



Biblio VT




10 de dezembro de 1515 d.C
Roma, Itália
O artista aproximou-se e debruçou-se sobre a cabeça decepada. O macabro objeto decorativo, perfeitamente iluminado pela luz matinal, encontrava-se espetado num espigão em cima da mesa do estúdio. Fora pela qualidade da luz natural que escolhera aquele apartamento no Belvedere, localizado no Vaticano, em solo considerado sagrado. Apesar disso, sem um pingo de hesitação e com extrema perícia, o artista começou a dissecar a pele de uma das faces da rapariga, que morrera antes de completar dezassete anos de idade. Uma tragédia, bem entendido, mas que lhe valera um belo espécime.
O artista expôs a delicada musculatura por baixo da pele e observou as frágeis fibras que se estendiam do osso malar ao canto dos lábios inertes. Durante uma hora, com a ajuda de uma pinça, remexeu e puxou os filamentos de músculo, sempre atento aos movimentos que os seus esforços causavam naqueles lábios pálidos. Volta e meia, parava e tomava notas num pedaço de pergaminho. Reparou nas pequenas mudanças na narina da rapariga morta, o modo como o formato da face se alterava, o enrugar da pálpebra inferior.
Uma vez satisfeito, endireitou-se com um estalar de costas e encaminhou-se para a placa de madeira pousada no cavalete de pintura. Pegou num pincel de crina de cavalo e estudou o lado esquerdo do rosto por terminar da sua modelo, a expressão congelada para sempre num ângulo de três quartos de volta. Sem a modelo no estúdio, tinha de continuar a pintar de memória. Por um momento, ignorou a forma como pintara as tranças, o drapeado do vestido. Mergulhou a ponta do pincel na tinta de óleo e, socorrendo-se do conhecimento adquirido pela dissecação, retificou a sombra junto ao lábio.
Sorrindo, deu um passo atrás.
Melhor... muito melhor.
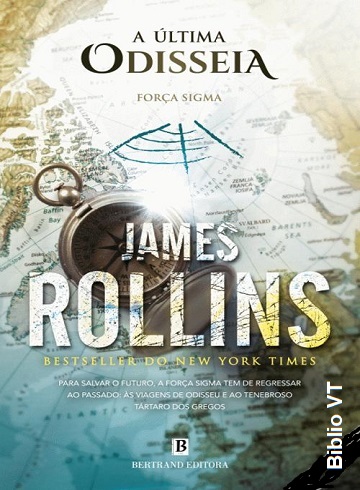
Doze anos antes, quando vivia em Florença, Francesco del Giocondo, um mercador abastado, encomendara-lhe um retrato da sua jovem esposa, a bela e enigmática Lisa. Desde então, ele carregava a pintura inacabada de um lado para o outro: Florença, Milão, Roma. Tinham passado doze anos, mas continuava a não estar preparado para se separar daquele retrato.
Miguel Ângelo, um artista que se tornara a sensação do momento — e por vezes ocupava aqueles apartamentos no Belvedere —, costumava ridicularizar a sua relutância em terminar o retrato, zombando de tamanha dedicação com a arrogância própria dos jovens.
Mas isso pouco lhe interessava. Fitou aqueles olhos pintados que o olhavam de volta. A luz fria da manhã penetrava pelas janelas daquele segundo andar e iluminava a pele da modelo, avivada pelas brasas incandescentes da pequena lareira que aquecia o estúdio.
Ao longo destes anos, com o conhecimento que adquiri, tornei-te ainda mais bela.
Mas a verdade é que ainda não tinha terminado.
A porta do estúdio abriu-se. O ranger das dobradiças lembrou-o de outros deveres, outras encomendas, algumas urgentes, que o afastariam uma vez mais do sorriso da modelo. Irritado, cerrou os dedos com força em torno do pincel.
A voz do jovem aprendiz, suave e comprometida, atenuou a sua frustração.
— Mestre Leonardo — disse Francesco. — Reuni tudo o que me pediu na biblioteca do palácio.
Suspirando, pousou o pincel e voltou mais uma vez as costas à sua Lisa.
— Grazie, Francesco.
Enquanto Leonardo se dirigia para o casaco de inverno forrado a pelo pendurado no cabide junto à porta, Francesco reparou na cabeça decepada e parcialmente dissecada em cima da mesa. O jovem arregalou os olhos e empalideceu, mas absteve-se de fazer comentários.
— Deixa-te disso, Francesco. Por esta altura, já devias estar habituado a estas coisas — disse Leonardo enquanto vestia o casaco e se preparava para sair. — Se queres ser um grande artista, deves procurar o conhecimento onde quer que o puderes adquirir.
Francesco anuiu com a cabeça e Leonardo abandonou o estúdio.
Os dois desceram as escadas de pedra que conduziam ao pátio. A geada de inverno tornara o relvado branco e quebradiço. O ar frio cheirava a lenha queimada. Andaimes cobriam as alas incompletas em ambos os lados do pátio.
Enquanto o atravessavam, Leonardo refletiu sobre aquele momento no tempo. Parecia-lhe que a história aguardava o fim de uma era para dar lugar à seguinte. A expectativa de mudança entusiasmava-o, dava-lhe força, acendia no seu peito uma chama de esperança.
Por fim, com o nariz a arder-lhe por causa do frio, ele e Francesco encontraram-se diante do impressionante Palácio Apostólico. Recentemente, a capela do edifício havia sido pintada pelo irritante Miguel Ângelo. Pensar nisso enfurecia-o o suficiente para esquecer o frio. No ano anterior, Leonardo entrara na capela pela calada da noite. De lanterna na mão, apreciara em segredo o trabalho do jovem artista, visto que nunca lhe daria a satisfação de confessar o menor apreço pelo seu talento. Lembrava-se bem da admiração que sentira ao erguer a cabeça para o teto. Era-lhe impossível não respeitar o génio do outro, não lhe conceder o merecido crédito pelo uso inovador da perspetiva num espaço daquela dimensão. Tomara bastantes notas, de modo a absorver todo o conhecimento que pudesse do impressionante trabalho de Miguel Ângelo.
A constante amargura em relação ao jovem artista recordou-lhe o raspanete que dera a Francesco momentos antes: Deves procurar o conhecimento sempre que tiveres oportunidade. Isso não significava, porém, que houvesse a obrigação de dar reconhecimento à fonte desse conhecimento.
Subiu as escadas do palácio, acenou com a cabeça aos guardas e entrou.
Francesco, que porventura sentia a sua frustração, foi à frente até à Biblioteca do Vaticano, onde passara a noite inteira a vasculhar prateleiras e armários poeirentos, tudo para reunir os materiais de que Leonardo precisava para a encomenda seguinte.
O tempo começava a escassear.
Em três dias, Leonardo acompanharia o papa Leão X numa deslocação a Bolonha, onde este iria encontrar-se com Francisco I, o rei de França, que não há muito tempo saqueara a cidade de Milão. O encontro serviria para discutir assuntos de Estado, mas o rei requisitara a presença de Leonardo. A estranha exigência fizera-se acompanhar de uma carta.
Ao que parecia, o rei, que conhecia o talento de Leonardo, queria encomendar-lhe uma peça extraordinária para comemorar a vitória francesa. Os pormenores constavam da carta. O rei francês queria que Leonardo lhe construísse um leão mecânico de ouro. O dito leão não só teria de ser capaz de se deslocar sozinho, como o mecanismo deveria igualmente permitir que o peito se abrisse, revelando no interior um ramo de lírios, o símbolo do rei.
Francesco, que se tornara uma espécie de sombra de Leonardo, adivinhou-lhe os pensamentos.
— Acredita que será capaz de construir um artefacto desse calibre?
Leonardo lançou-lhe um olhar de soslaio.
— É uma ponta de dúvida que deteto na tua voz, Francesco? Pões em causa a minha capacidade?
O jovem aprendiz corou.
— N-não, mestre... — gaguejou. — Claro que não.
Leonardo sorriu.
— Ótimo, porque dúvidas já eu as tenho. A arrogância só nos leva até certo ponto. As grandes obras nascem tanto da genialidade como da humildade.
Francesco franziu o sobrolho.
— Humildade? O mestre está a dizer-me que é humilde?
Leonardo riu-se. O rapaz conhecia-o muitíssimo bem.
— Devemos ser arrogantes na presença de outros. É a melhor forma de transmitirmos confiança diante de um desafio.
— E em privado?
— Devemos ser fiéis a nós próprios. Humildes o suficiente para reconhecer as nossas limitações e perceber quando há necessidade de aprender mais. — Leonardo recordou o momento de aprendizagem ao admirar o teto de Miguel Ângelo à luz de uma lanterna, o saber que retirara do trabalho do outro. — É onde se encontra o verdadeiro génio, Francesco — acrescentou. — Armado com o conhecimento e a engenhosidade suficientes, um homem consegue fazer qualquer coisa.
Pronto para provar o seu ponto de vista, Leonardo estugou o passo na direção da biblioteca.
10h02
Espero que tenha feito tudo bem.
Francesco segurou a porta aberta para o mestre passar e depois seguiu-o pelo interior da biblioteca papal. Rezou para que os seus esforços não desiludissem aquele grande homem.
Enquanto caminhava atrás do mentor, o cheiro a bafio do cabedal antigo e papel envelhecido atingiu-os à entrada do cofre principal. As prateleiras de madeira erguiam-se até às traves do teto, intervaladas por pálidas estátuas de mármore. Mais à frente, uma lanterna solitária iluminava uma secretária ampla com livros cuidadosamente empilhados, algumas folhas soltas e até uma pirâmide de pergaminhos.
Leonardo aproximou-se da secretária.
— Não há dúvida de que estiveste ocupado, Francesco.
— Fiz o meu melhor — suspirou o jovem. — O volume árabe que me pediu foi o mais difícil de encontrar.
Leonardo olhou por cima do ombro e ergueu uma sobrancelha.
— Encontraste-o?
Envaidecido, Francesco apontou para o volumoso tomo no centro do material recolhido. Apesar da capa de cabedal gasto e escurecido pelo tempo, o título em folha de ouro resplandecia sob a luz da lanterna, onde se destacavam os elegantes caracteres árabes, uma beleza por si só.
Leonardo passou o dedo sobre o título — — e leu-o em voz alta.
— Kitab fi ma’rifat al-hiyal al-handasiya.
— O Livro do Conhecimento dos Dispositivos Mecânicos Engenhosos — murmurou Francesco.
— Este livro tem duzentos anos — disse Leonardo. — Consegues imaginar essa época, a idade de ouro islâmica, quando a ciência e o conhecimento eram valores mais altos?
— Um dia, gostava de poder visitar esses lugares.
— Ah, meu querido Francesco, vens demasiado tarde. Aquelas terras caíram na escuridão, onde só abundam a guerra e a mais selvagem ignorância. Não irias gostar. — Leonardo pousou a mão sobre o livro. — Felizmente, este conhecimento ancestral foi preservado.
Leonardo abriu o volume ao acaso. Na página, a tinta preta fluía num rio de caracteres árabes em torno da ilustração de uma fonte, onde a água jorrava do bico de um pavão e caía sobre um intricado sistema de polias e roldanas. Francesco sabia que o livro continha muitas outras ilustrações de dispositivos semelhantes, boa parte deles mecânicos, tal como pretendia o rei de França.
— O autor é Ismail al-Jazari — disse Leonardo. — Um artista brilhante e o engenheiro-chefe do Palácio de Artuklu. Acredito que posso aprender muito com este livro, e que irá ajudar-me na construção do leão de ouro para o rei francês.
— Nesse caso, sou capaz de ter outro que poderá também ajudar — disse uma voz nas costas de ambos.
Leonardo e Francesco viraram-se na direção da porta da biblioteca, que por descuido tinham deixado aberta. Uma figura baixa e robusta junto à entrada observava-os. A luz fraca permitia distinguir a batina branca simples e o solidéu. Com o entusiasmo próprio da juventude, Francesco caiu sobre um joelho e baixou a cabeça. Leonardo mal teve tempo de se baixar antes de a figura se pronunciar de novo.
— Chega dessas coisas, levantem-se.
Francesco endireitou-se, mas manteve a cabeça baixa.
— Vossa Santidade — disse.
O papa Leão X avançou, deixando junto à porta os dois guardas que o acompanhavam. Trazia um livro nas mãos.
— Disseram-me que o teu aprendiz passou a noite a revirar a biblioteca, e também o que procurava. Parece que tencionas fazer o possível por agradar ao nosso convidado do Norte.
— Ouvi dizer que o rei Francisco é uma pessoa difícil de agradar — admitiu Leonardo.
— E temperamental — acrescentou o papa. — Uma tendência que preferia manter à distância, o que significa que é melhor não desapontarmos Sua Majestade, não vá ele descer por aí abaixo com os seus soldados. Como tal, achei por bem emprestar-vos os serviços do meu pessoal para vos ajudar nessa vossa busca.
O papa Leão parou junto à secretária e pousou o pesado tomo.
— Este livro proveio do Santo Scrinium.
Francesco ficou surpreendido. O Santo Scrinium era o repositório privado dos papas, que se dizia conter obras extraordinárias, religiosas e não só, remontando aos primórdios do cristianismo.
— Foi obtido na Primeira Cruzada — explicou o pontífice. — Um manual persa sobre dispositivos mecânicos, datado do século nove de Nosso Senhor. Calculei que podia interessar-te, Leonardo, à semelhança da obra que o teu aprendiz encontrou.
Curioso, Leonardo abriu o livro, cujo título há muito desaparecera. Lá dentro, encontrou o nome do autor. Quase não podia acreditar.
— Banu Musa — disse, virando-se para o papa.
O papa Leão acenou com a cabeça, traduzindo em simultâneo.
— Os Filhos de Moisés.
Francesco abriu a boca para perguntar qualquer coisa, mas não teve coragem de falar.
Virando-se ligeiramente, Leonardo respondeu-lhe na mesma.
— Os Filhos de Moisés eram três irmãos persas que viveram quatro séculos antes de Ismail al-Jazari, que no seu livro lhes agradece a inspiração. Pensava que não existiam mais cópias da obra dos três irmãos.
— Não estou a perceber — murmurou Francesco. — Que livro é este?
— Uma maravilha deste mundo — explicou Leonardo. — O Livro dos Mecanismos Engenhosos.
— Mas... — Francesco desviou o olhar para o volume que tanto trabalho lhe dera a encontrar.
— Sim — admitiu Leonardo —, na altura de escolher o título da sua obra, o nosso querido Al-Jazari inspirou-se no nome desta, alterando-o ligeiramente. Reza a lenda que estes três irmãos, os Filhos de Moisés, após a queda do Império Romano, passaram décadas a recolher e a preservar antigos textos gregos e romanos. Com o passar do tempo, inspirados pelo conhecimento adquirido, decidiram escrever o seu próprio manual de invenções.
— Mas os irmãos não estavam apenas interessados no conhecimento científico — interveio o papa. O pontífice abriu o livro nas últimas páginas e retirou um conjunto de folhas soltas. — O que pensam disto?
Leonardo franziu o sobrolho e estudou por instantes as folhas amareladas e o elegante texto. Por fim, abanou a cabeça.
— Isto é árabe, mas não conheço o suficiente da língua para perceber o que aqui está escrito. Com um pouco de tempo, talvez...
O papa ergueu a mão e cortou-lhe a palavra.
— Tenho estudiosos da cultura árabe que já fizeram esse trabalho. Ao que parece, estas folhas são o décimo primeiro livro de uma obra poética maior. As primeiras linhas dizem qualquer coisa como isto: Quando chegámos à nau e à orla do mar, arrastámos primeiro a nau para a água divina. Pusemos na nau escura o mastro e as velas; embarcámos as ovelhas; depois embarcámos também nós, vertendo lágrimas copiosas.
Francesco franziu o sobrolho. Aquilo parecia-lhe familiar.
O papa continuou a recitar o texto de memória:
— Atrás da nau de proa escura soprava um vento favorável que enchia a vela, excelente amigo, enviado por Circe de belas tranças, terrível deusa...
Chocado pelas palavras, Francesco soltou por fim uma exclamação, interrompendo o papa.
Circe... isso só pode significar uma coisa...
Leonardo puxou as folhas para si e confirmou as suspeitas do jovem aprendiz.
— Está a querer dizer-nos que isto é uma tradução da Odisseia de Homero?
O papa anuiu. Parecia divertido com a situação.
— Uma tradução árabe. Deve ter cerca de nove séculos.
A ser verdade, Francesco sabia que podiam estar a olhar para a primeira versão escrita do poema épico de Homero. Aclarou a voz.
— Mas o que faz este canto escondido num livro antigo de mecanismos persas?
— Talvez por isto.
O papa mostrou a última folha solta, o rascunho apressado de uma elaborada ilustração. À primeira vista, parecia tratar-se de um mapa de um mecanismo, uma confusão de engrenagens e fios, assinalado com notas em árabe, abrangendo toda a região do Mediterrâneo e algum território além deste. Em todo o caso, parecia incompleto. Uma obra em progresso.
— O que é? — perguntou Francesco.
O papa virou-se para Leonardo.
— É o que espero que descubras, meu caro amigo. Os meus tradutores só conseguiram decifrar parte.
— Qual? — perguntou Leonardo, com os olhos a brilhar de curiosidade e a mente seduzida pelo mistério.
— A primeira pista. — O papa bateu com a ponta do dedo nas folhas soltas. — Este canto do poema relata a viagem de Odisseu ao mundo subterrâneo, às terras de Hades e Perséfone, o Inferno grego.
Francesco franziu a testa, nitidamente confuso.
O papa apontou para a ilustração e explicou.
— Ao que parece, os Filhos de Moisés queriam desenvolver uma ferramenta que os conduzisse a esse destino. — Fitou Leonardo. — Ao mundo subterrâneo.
Leonardo riu-se.
— Absurdo.
— Porque fariam isso? — perguntou Francesco com um arrepio na espinha. — O que queriam de um lugar como esse?
O papa encolheu os ombros.
— Ninguém sabe. Mas é preocupante.
— Porquê? — perguntou Leonardo.
O papa fitou-os, permitindo-lhes que lessem a sinceridade no seu olhar, e apontou para a última linha de texto por baixo da ilustração.
— Porque, segundo o que está aqui escrito, os Filhos de Moisés conseguiram. Encontraram a entrada do Inferno.
PRIMEIRA PARTE
O ATLAS DA TEMPESTADE
O mar é uma vastidão infinita, onde os grandes navios parecem grãos de pó; nada, apenas o céu acima e a água em baixo; quando calmo, o coração do marinheiro parte-se; quando revolto, os seus sentidos titubeiam. A confiança é pouca. O medo é muito. O homem no mar não é mais do que um verme sobre um fragmento de madeira, ora submerso, ora apavorado de morte.
— AMRU BIN AL-‘AS, CONQUISTADOR ÁRABE DO EGITO, 640 D.C.
1
21 de junho, 09h28 WGST
Fiorde de Sermilik, Gronelândia
O nevoeiro sobre as águas escondia o monstro.
Assim que o manto fantasmagórico envolveu a pequena embarcação, a luz matinal desapareceu com ela, convertendo-se numa espécie de lusco-fusco. O próprio rugido do motor fora de borda foi imediatamente abafado pela pesada neblina. Numa questão de segundos, a temperatura caiu a pique; de poucos graus abaixo de zero para um frio que transformava o ar em punhais invisíveis.
Na tentativa de impedir que os pulmões lhe sucumbissem no peito, a doutora Elena Cargill tossiu e encolheu-se o mais possível dentro da parca azul abotoada até ao queixo, por cima do fato de neopreno que a protegia das mortíferas águas geladas.
O que estou aqui a fazer?
Na véspera, transpirava no norte do Egito, onde trabalhava meticulosamente com a sua equipa na escavação de uma aldeia costeira praticamente engolida pelo mar Mediterrâneo, quatro milénios antes. Liderar aquele projeto, um esforço conjunto dos governos dos Estados Unidos e do Egito, constituíra uma verdadeira honra, sobretudo para alguém cujo trigésimo aniversário se encontrava ainda a dois meses de distância. Em todo o caso, ninguém podia dizer que não merecera. Possuía um duplo doutoramento em paleoantropologia e arqueologia, e o trabalho no terreno granjeara-lhe uma sólida reputação. Na verdade, para aceitar aquele projeto declinara um convite para professora na Universidade de Columbia, onde se formara.
Mesmo assim, suspeitava que a sua escolha para líder da equipa não se devia apenas ao currículo. Kent Cargill, o seu pai, era senador do grande estado do Massachusetts. Embora o pai lhe jurasse que nunca puxara cordelinhos para a favorecer, o homem era um político profissional que naquele momento cumpria o quarto mandato, o que seria o mesmo que dizer que tinha, à falta de melhor expressão, uma relação subjetiva com a verdade. Além disso, o pai era também o presidente do Comité de Relações Exteriores do Senado. Se algum dia a beneficiara ou não, a sua posição certamente influenciava a tomada de decisões.
Sendo quem é, como poderia ser de outra maneira?
Aquele pedido súbito para voar para a gélida e selvagem Gronelândia, porém, não tinha nada que ver com o pai. Disso tinha a certeza. Viera através de uma amiga, que praticamente lhe suplicara que averiguasse uma descoberta ali feita. A curiosidade, mais do que a amizade, fez com que largasse a escavação no Egito — sobretudo por causa das últimas palavras que a amiga lhe dissera: Garanto que vais querer ver isto. Talvez acabes a reescrever a história.
Tinha sido assim que no dia anterior apanhara um avião do Egito para a Islândia, para depois se enfiar numa avioneta que a levara de Reiquiavique à pequena aldeia de Tasiilaq, na costa sudeste da Gronelândia, onde pernoitara num dos dois hotéis disponíveis. Durante o jantar — uma caldeirada de peixe —, tentara saber mais acerca da misteriosa descoberta, mas apenas recebera em troca olhares vagos e um ou outro abanar de cabeça silencioso.
Ao que parecia, apenas um punhado de locais sabia da descoberta e nenhum estava disposto a falar sobre o assunto. Ao acordar, a situação manteve-se igual.
Encontrava-se agora num bote com três estranhos, todos homens, a deslizar ao longo da calmaria daquele fiorde e envolta naquele nevoeiro pastoso. A amiga enviara-lhe uma mensagem de texto, prometendo-lhe que se juntaria a ela em Tasiilaq, durante a tarde, para conhecer as suas conclusões acerca de tudo aquilo, fosse lá isso o que fosse.
Portanto, e até ver, estava por sua conta e risco, sem a mais pálida ideia do que viera ali fazer.
Saltou no lugar quando um rugido profundo fez estremecer a superfície tranquila da água em redor do pequeno barco. Era como se o monstro escondido no nevoeiro pressentisse a aproximação do grupo. Ouvira o mesmo som durante a noite, o que lhe dificultara o sono e aumentara a tensão.
Sentado à sua frente, um gigante de barba arruivada virou-se para trás. O nariz e as bochechas estavam vermelhos do frio intenso, mas trazia a parca amarela desabotoada, como se estivesse mais do que habituado àquelas condições. Elena não se lembrava do seu nome, que soava escocês, lembrava-se só que lhe fora apresentado como um climatologista canadiano. Em pensamento, batizara-o de «McViking». Era difícil adivinhar-lhe a idade. O rosto curtido pelo frio tanto aparentava vinte e poucos como quarenta anos.
O gigante fez um gesto largo.
— Terramoto glacial — explicou, à medida que o barulho se desvanecia. — Não há nada a temer, é apenas o gelo a soltar-se na face do glaciar Helheim. A massa de gelo à nossa frente é um dos glaciares mais rápidos do mundo, com cerca de trinta metros de deslocação diária para o mar. No ano passado, soltou-se um pedaço enorme. Seis quilómetros de comprimento por um e meio de largura, com uns oitocentos metros de espessura.
Elena tentou visualizar um icebergue com o tamanho da baixa de Manhattan a passar ao lado do minúsculo barco.
O climatologista fitou o nevoeiro.
— O abalo durou um dia inteiro e foi captado por sismómetros em todo o mundo.
— E devo ficar tranquila quando diz uma coisa dessas? — perguntou Elena, arrepiando-se.
— Pois.
O gigante sorriu com os dentes todos, o brilho dos olhos verdes a cortar o nevoeiro pastoso. De repente, parecia muito mais novo. Elena calculou que ele devia ser um nadinha mais velho do que ela e lembrou-se também do nome: Douglas MacNab.
— Toda esta atividade foi o que me trouxe para aqui há dois anos — admitiu o gigante. — Calculei que mais valia aproveitar enquanto posso.
— Como assim?
— Estou envolvido na operação IceBridge, um projeto da NASA que utiliza radares, altímetros a laser e câmaras de alta resolução para monitorizar os glaciares da Gronelândia. Nomeadamente o Helheim, que recuou quase cinco quilómetros nas últimas duas décadas e perdeu uns cem metros de espessura. O Helheim é um bom indicador do que está a acontecer aqui. A Gronelândia inteira está a derreter a um ritmo seis vezes superior ao que ocorria há trinta anos.
— E se o gelo desaparecer por completo?
MacNab encolheu os ombros.
— A água resultante do degelo seria suficiente para acrescentar uns seis metros ao nível médio dos oceanos.
Isso é a altura de dois andares, pensou Elena, visualizando a escavação no Egito e as ruínas parcialmente engolidas pelo mar Mediterrâneo. Será esse o destino de muitas cidades costeiras?
Uma nova voz ergueu-se do estibordo do barco.
— Não sejas alarmista, Mac.
Sentado ao seu lado, o homem magro de cabelo escuro suspirou. Se houvesse uma palavra para o descrever, seria angular. Toda a figura era uma sucessão de ângulos agudos, desde os cotovelos aos joelhos, ao queixo e às maçãs do rosto.
— Mesmo que a tendência atual se mantenha, o que acabas de descrever não acontecerá nos próximos séculos, se é que vai acontecer. Conheço bem os dados, os teus e os da NASA, e, se queres que te diga, no que toca ao clima e ao ciclo natural das temperaturas do planeta, as variáveis são demasiadas para sequer...
— Poupa-me, Nelson. Quem te ouvir falar adivinha logo que é a Allied Global Mining que te paga o ordenado.
Elena lançou um olhar na direção do geólogo. Quando Conrad Nelson lhe foi apresentado, ninguém mencionara o facto de que trabalhava para uma empresa mineira.
— E quem é que te financia, Mac? — contrapôs Nelson. — Um consórcio de grupos ambientalistas. Isso não deve ter nenhum impacto nas tuas conclusões.
— Dados são dados.
— A sério? Os dados não podem ser alterados? Ou manipulados de acordo com interesses?
— Claro que podem.
Nelson endireitou as costas, convencido de que ganhara a discussão, mas MacNab não terminara.
— A AGM passa a vida a fazê-lo, portanto.
Nelson ergueu a mão e estendeu o dedo médio.
— Aqui tens os teus dados.
— Bom, parece-me que estás a admitir que sou o número um nesta matéria.
Nelson riu-se e baixou a mão.
— Como te disse, os dados podem ser mal interpretados.
A densidade do nevoeiro diminuiu de repente, revelando um vislumbre do que se encontrava adiante.
Nelson aproveitou para fazer o seu último comentário.
— Olha para ali e depois diz-me que o teu glaciar vai desaparecer a qualquer instante.
Cem metros à frente, o mundo terminava numa muralha de gelo. A face irregular do glaciar estendia-se a perder de vista, lembrando as fortificações de um castelo de gelo com as suas ameias e torres em ruínas. A luz do sol matinal fraturava-se contra a superfície rugosa, revelando um espectro de tons que se estendia do azul mais pálido ao preto mais ameaçador. O próprio ar cintilava com partículas de gelo que flutuavam e refletiam os raios de sol à medida que o barco avançava.
— É colossal — disse Elena, embora a palavra não fizesse justiça à dimensão do monstro.
Mac sorriu novamente.
— Pois é. O Helheim tem uma largura de seis quilómetros e estende-se ao longo de mais de uma centena de quilómetros terra adentro. Em alguns pontos, o gelo tem mais de mil e quinhentos metros de espessura. É um dos maiores glaciares que tem vindo a perder massa no Atlântico Norte.
— E, no entanto, aqui está ele — disse Nelson. — Ainda de pé. Como continuará a estar no futuro.
— Não estará se a Gronelândia continuar a perder centenas de milhares de toneladas de gelo todos os anos.
— Isso não quer dizer nada. A camada de gelo da Gronelândia sempre diminuiu e aumentou ao longo dos tempos. É como as coisas funcionam.
Elena deixou de prestar atenção à conversa, que se tornou mais técnica. Por muito que aqueles dois homens discutissem, tinha a impressão de que não eram realmente inimigos e que ambos apreciavam a companhia um do outro. Era preciso ser-se uma pessoa especial para suportar aquelas condições de vida. Talvez aquele lugar originasse uma comunhão de espírito que aproximava toda a gente, incluindo dois cientistas com visões opostas em relação ao aquecimento global.
Focou-se no ambiente que a rodeava. Estudou os icebergues silenciosos que flutuavam no canal. O homem que manobrava o barco, um ancião inuíte de rosto enrugado e olhos negros indecifráveis, contornava-os com destreza à medida que progrediam pelo labirinto. Sempre a fumar um cachimbo de marfim, parecia guardar uma margem considerável de distância entre cada icebergue e a embarcação. Elena depressa percebeu porquê. Um dos icebergues, que nem dava ares de ser muito grande, virou-se de repente, revelando a sua verdadeira massa escondida sob a superfície da água. Se o barco estivesse mais perto, teria sido atingido.
Um bom exemplo dos vários perigos que ali se escondiam.
O próprio nome do glaciar não agourava nada de bom.
— Helheim — murmurou. — O Reino do Inferno.
Mac ouviu-a.
— Isso mesmo. O glaciar foi batizado em homenagem ao mundo dos mortos do povo viquingue.
— Quem se lembrou de um nome desses?
Nelson suspirou.
— Um investigador nórdico, talvez com um sentido de humor cáustico e fascinado pela mitologia viquingue.
— Acho que a origem do nome é muito mais antiga — disse Mac. — Os inuítes acreditam que alguns glaciares são malignos. É uma crença transmitida de geração em geração. O Helheim é um desses lugares, onde dizem habitar os tuurngaq, os espíritos assassinos, a sua versão de demónios.
O piloto do barco tirou o cachimbo da boca e cuspiu para o mar.
— Não usar esse nome — resmungou.
Pelos vistos, as antigas superstições continuavam vivas.
Mac baixou o tom de voz.
— Aposto que o nome surgiu de velhas histórias.
Elena olhou em volta e formulou a pergunta que a incomodava desde que pusera os pés no barco.
— Para onde vamos ao certo?
Mac apontou na direção de uma arcada negra na muralha de gelo. Encontravam-se suficientemente perto para distinguir uma espécie de entrada, um rifte sombrio cortado na face do glaciar, enquadrado por uma moldura de gelo índigo que parecia brilhar a partir do interior.
— Houve um enorme bloco que se desprendeu na semana passada, o que expôs um canal de degelo.
Elena reparou na água que jorrava da fenda com força suficiente para empurrar o gelo semiderretido que flutuava na base do glaciar. O barco continuou a avançar e o casco de metal depressa começou a cortar pelo gelo solto com um ruído de facas sobre aço que a fez arrepiar-se. A inquietação tomou novamente conta de Elena, gelando-a até aos ossos. Sem uma enseada ou qualquer outro ponto distinto onde pudessem ancorar o barco, compreendeu finalmente para onde a levavam.
— Nós... nós vamos entrar no glaciar? — perguntou.
Mac acenou com a cabeça.
— Direitinhos ao coração do Helheim.
Por outras palavras, direitos ao mundo dos mortos.
09h54
Douglas MacNab manteve-se atento à passageira que transportava, lançando-lhe olhares de soslaio, reparando no tom do seu rosto cada vez mais pálido e na forma como apertava os dedos na amurada do navio.
Vá, coragem, vai valer a pena.
Quando lhe disseram que iria ter a companhia de uma arqueóloga, que fora chamada de propósito do Egito, não sabia bem o que esperar. A imaginação vacilara entre a imagem de um Indiana Jones em versão feminina e uma estudiosa com ar de bibliotecária, que dificilmente se adaptaria às exigentes condições daquele terreno. Verificou que a realidade se encontrava entre uma coisa e outra. A doutora Cargill lembrava nitidamente um peixe fora de água, mas mantinha-se firme. Para lá do olhar assustado, havia uma curiosidade obstinada.
A beleza dela também o surpreendera. A sua figura não era exageradamente curvilínea, tão-pouco isenta de pequenas imperfeições. Era magra e pequena, mas musculada, os lábios cheios, as maçãs do rosto proeminentes e rosadas pelo frio. Os cantos dos olhos exibiam pequenas rugas, porventura o resultado de demasiada exposição ao sol do deserto ou de intermináveis horas de leitura. Em todo o caso, dava-lhe um ar académico, à semelhança de uma professora exigente. MacNab deu por si igualmente fascinado pela madeixa de cabelo louro quase branco que saía do gorro de lã.
— Mac, presta atenção — avisou Nelson. — Ou ainda acabamos por bater num bloco de gelo submerso.
Mac endireitou-se e virou-se para a frente, tanto para disfarçar o embaraço como para vigiar a água à frente do barco. A superfície azul tornara-se castanha devido aos sedimentos do degelo do glaciar.
Focado novamente no seu trabalho na proa, continuou atento aos perigos ocultos na água e no próprio glaciar. Sabia, porém, que John Okalik, o piloto do barco, sabia ler o gelo melhor do que ninguém. O inuíte navegava naquelas águas traiçoeiras desde rapaz, o que constituía um conhecimento acumulado ao longo de quase cinquenta anos, a que se somava o da família e o de gerações anteriores.
Ainda assim, Mac focou toda a atenção na boca do canal de degelo. Tinha à volta de dez metros de largura e o dobro disso em altura. Um segundo barco idêntico aguardava na entrada. Encontrava-se no lado direito, preso com cordas e estacas cravadas na parede de gelo. Dois homens ocupavam o barco com espingardas pousadas no colo.
John levantou-se e trocou umas palavras com eles, seus parentes, circunstância partilhada por quase todos os habitantes de Tasiilaq. Enquanto os três conversavam, Mac alternava o olhar entre os dois barcos, tentando perceber o que diziam. Conhecia algumas palavras da principal língua inuíte da Gronelândia, o kalaallisut, mas aquilo era o dialeto da tribo local a que pertencia o trio, os tunumiit.
O piloto sentou-se finalmente e pegou no leme.
— Tudo bem, John? — perguntou Mac. — Podemos seguir?
— Os meus primos dizem que sim. O canal continua aberto.
John acelerou o motor e entrou no canal, deixando para trás o segundo barco. O rugido do motor foi amplificado pela estrutura cavernosa, com a pequena embarcação a lutar contra a corrente.
Mac reparou que Elena olhava na direção da arcada luminosa que ficava para trás e dos homens no segundo barco.
— Para que servem as armas? — perguntou ela. — É por causa dos ursos-polares?
Era um bom palpite. A probabilidade de um encontro indesejado com os gigantes carnívoros era real, sobretudo quando eram capazes de nadar longas distâncias. Em todo o caso, a diminuição da massa de gelo do Ártico começava a comprometer até essa capacidade dos ursos.
— Eles não estão aqui por causa dos ursos — disse Mac. — Quando chegarmos ao local, vai perceber tudo.
— Onde é que...
— Não falta muito — prometeu Mac. — E é preferível que veja com os seus próprios olhos, sem ideias preconcebidas. — Desviou o olhar para Nelson. — Foi assim que o descobrimos, há três dias. Entrámos neste canal sobretudo pelo espírito de aventura, mas também para compreender melhor o que se passa nas entranhas do Helheim. As perfurações à superfície e a análise dos gases aprisionados no gelo antigo só nos levam até certo ponto. Através deste canal, tínhamos a rara oportunidade de irmos diretamente à fonte, ao coração do glaciar.
— Eu vim na esperança de obter amostras a esta profundidade — explicou Nelson, enquanto tentava abrir a mochila à prova de água. — À procura de tesouros minerais desenterrados por esta pá de gelo maciça que continua a abrir caminho pela Gronelândia.
— Mas o que há aqui de tão importante? — insistiu Elena.
Nelson bufou ao conseguir abrir por fim o fecho da mochila.
— A verdadeira riqueza da Gronelândia não reside apenas na quantidade de água fresca em forma de gelo, mas no que se esconde por baixo deste. Uma panóplia de tesouros por explorar: ouro, diamantes e rubis, veios de cobre e níquel, e por aí adiante. Tudo isto pode mudar a realidade da Gronelândia e das pessoas que aqui vivem.
— E encher os bolsos da AGM — acrescentou Mac.
Nelson ignorou o comentário e retirou um dispositivo da mochila, que depressa começou a calibrar.
Elena focou a atenção no túnel. À medida que avançavam, o gelo azulado tornava-se cada vez mais negro.
— Até onde é que isto vai?
— Até à costa rochosa — respondeu Mac. — Estamos a viajar pelo interior de uma língua de gelo que se estende ao longo de um quilómetro desde terra firme.
10h02
Meu Deus...
A respiração de Elena tornou-se mais pesada depois de ouvir aquilo. Tentou imaginar o peso do gelo por cima da cabeça, recordando ao mesmo tempo as palavras de Mac acerca da porção que se desprendera há um ano, um bloco de gelo do tamanho da baixa de Manhattan.
E se voltar a acontecer enquanto aqui estamos?
A dada altura, a escuridão obrigou Mac a acender um projetor na proa do barco, lançando um feixe de luz que se estendeu ao longo do túnel e das paredes de gelo translúcido, dando a ideia de que cintilavam com um brilho próprio e revelando veios negros, como num antigo mapa, assinalando a presença dos minerais arrancados à costa distante.
Elena respirou fundo, fazendo o possível por acalmar os nervos. Não tinha medo de se enfiar em túmulos, mas aquilo era diferente. Para onde quer que se virasse, só havia gelo. Por toda a parte. Conseguia saboreá-lo, cheirá-lo. Estava dentro do gelo, e o gelo dentro dela.
À distância, um brilho rompeu por fim a escuridão, muito para lá do alcance do projetor.
Com um derradeiro gemido do motor, o barco prosseguiu rio acima até onde o gelo azul terminava num arco de rocha negra. O canal do degelo prolongava-se para lá da passagem numa sucessão de cascatas formadas por rocha e gelo partidos, mas um candeeiro solitário assinalava o fim da viagem, um farol solitário num mundo congelado.
Elena ficou de boca aberta. Não conseguia acreditar na imagem que se revelava diante dos olhos. Era como se aquele farol tivesse realmente atraído um navio até às profundezas daquele porto gelado.
— Impossível — balbuciou.
John apontou o barco na direção de um pequeno remoinho numa das margens, onde Mac prendeu uma corda a uma estaca cravada na parede de gelo.
Elena levantou-se com cuidado, consciente do perigo de cair naquela água gelada. Ergueu a cabeça e estudou o enorme navio de madeira. A quilha e o casco encontravam-se enegrecidos devido à passagem do tempo.
— Como é que isto veio aqui parar? — murmurou.
Mac ajudou-a a descer do barco para a rocha molhada.
— Se tivesse de adivinhar, diria que os tripulantes deste navio tentaram ancorar aqui, naquilo que em tempos deve ter sido uma caverna marinha. — Fez um gesto largo e olhou na direção do teto rochoso. — Calculo que depois tenham ficado encurralados, o gelo engoliu-os e ficaram aqui para sempre.
— Há quanto tempo? — perguntou Elena.
— Pela idade do gelo — disse Nelson, enquanto se juntava aos dois —, este navio está aqui há pouco mais de mil anos.
Mac olhou para Elena.
— Toda a gente acreditava que Cristóvão Colombo descobriu o Novo Mundo em 1492. Esse título foi-lhe mais tarde retirado, quando ficámos a saber que os viquingues já habitavam a Gronelândia e o norte do Canadá no final do século dez.
— Se essa estimativa estiver correta, este navio veio aqui parar um século antes — notou Elena. — Além do mais, isto não é um navio viquingue.
— Foi o que pensámos, mas não somos especialistas na matéria.
Nelson anuiu.
— Daí a sua presença, doutora Cargill.
Elena percebeu finalmente. Embora tivesse um duplo doutoramento em paleoantropologia e arqueologia, especializara-se em arqueologia náutica. Tinha sido por isso que fora escolhida para liderar a escavação da cidade egípcia parcialmente engolida pelo Mediterrâneo. O seu objeto de estudo e maior interesse era determinar ao certo quando é que a humanidade começara realmente a navegar os mares. Guardava um fascínio absoluto pelas façanhas e engenhosidade associadas a cada avanço tecnológico. Era uma paixão que nascera em criança, quando o pai a levava a velejar no verão em Martha’s Vineyard. Acarinhava essas recordações de infância, as raras ocasiões em que gozara da companhia do pai só para si. Mais tarde, ingressara na equipa de remo da universidade, ganhando até um campeonato da Ivy League.
— Alguma ideia de onde poderá ter vindo? — perguntou Mac.
— Acho que não preciso de adivinhar. — Elena avançou na direção da popa exposta do navio. A proa permanecia encapsulada pelo gelo. — Reparem como as tábuas de revestimento foram fixadas, as próprias juntas foram feitas com corda de coco. É um design muito característico.
— Disse coco?
Elena anuiu e aproximou-se do par de mastros partidos, que se erguiam na caverna como dois postes de bandeiras. Ainda exibiam pedaços das velas.
— Isto são velas latinas... e são feitas de folha de palma.
Nelson franziu o sobrolho.
— Coco e folha de palma. A hipótese de ser um navio viquingue está arrumada.
— Pois está. É um sambuco. Um dos maiores navios do mundo árabe. Dá a ideia de que até possui convés, o que faria dele um dos raros navios mercantes do mundo árabe capaz de cruzar oceanos.
— Se estiver certa — disse Mac —, e não duvido que esteja, esta descoberta pode provar que os árabes foram os primeiros a chegar aqui, e não os viquingues.
Elena não estava pronta para fazer uma afirmação dessas. Primeiro, teria de efetuar uma datação por radiocarbono. Em todo o caso, a amiga estava certa ao dizer-lhe que aquela descoberta poderia reescrever a história.
Nelson seguiu atrás de Elena, a abanar o dispositivo que retirara da mochila.
— Infelizmente, estes desgraçados nunca regressaram a casa para contar a façanha.
— Um deles, pelo menos — acrescentou Mac. — Só encontrámos um cadáver a bordo. Não sabemos o que aconteceu ao resto da tripulação.
Elena virou-se de repente, ficando quase cega quando Mac apontou a lanterna na sua direção.
— Estiveram lá dentro?
Mac desviou o feixe da lanterna na direção de um buraco no casco.
— É também por causa disso que a chamámos. O navio não foi a única coisa que descobrimos. Venha comigo.
Mac conduziu Elena até ao buraco no casco e, virando-se de lado para conseguir passar pela abertura, entrou.
— Veja onde pisa e tenha cuidado para não bater em nenhum lado. É uma sorte o gelo não ter esmagado o navio inteiro, o que só não deve ter acontecido porque o teto desta caverna o protegeu estes anos todos.
Elena entrou depois de Mac, com Nelson atrás. John ficou no bote a fumar o cachimbo. Com o motor desligado, a caverna ficara silenciosa como um túmulo. Parecia que o mundo inteiro suspendera a respiração. À medida que os ouvidos se ajustavam ao silêncio, Elena voltou a ouvir os queixumes do gelo. Um ranger persistente ecoava pelo túnel, como se alguma besta gigantesca rangesse os dentes na escuridão.
Pensar no perigo atenuava a excitação, mas nunca o suficiente para a impedir de explorar o interior do navio.
A lanterna de Mac iluminou o porão, suportado por vigas enegrecidas pelo gelo. Atravessaram rapidamente aquela floresta morta. Havia um cheiro oleoso no ar, porventura de óleos minerais ou de um qualquer combustível. Em cada um dos lados, erguiam-se fileiras de vasilhas de barro à altura dos ombros. Uma estava partida, dando a impressão de que rebentara. Elena detetou um odor mais forte, semelhante a alcatrão, mas qualquer avaliação mais concreta teria de esperar. O seu guia tinha algo mais importante para lhe mostrar.
Mac avançou na direção da proa, onde alguns degraus conduziam a uma porta num tabique de madeira.
— Estamos convencidos de que esta divisão era a cabina do comandante.
Mac subiu os degraus, baixou a cabeça e entrou primeiro. Lá dentro, afastou-se para um dos lados e estendeu o braço a Elena. Ela pegou-lhe na mão. Os joelhos tremiam-lhe de toda a excitação, mas também de medo.
Entrou na divisão sem janelas. Havia prateleiras nas paredes onde livros e pergaminhos se haviam convertido em montículos bolorentos. Uma secretária ocupava a maior parte do espaço exíguo, cuja forma acompanhava a curvatura da proa do navio.
— É melhor preparar-se — avisou Mac.
O climatologista afastou-se, permitindo que Elena se aproximasse da secretária. Ela deu um passo em frente, depois recuou. Havia uma cadeira junto à secretária. Não estava vazia, mas ocupada por uma figura vestida com um casaco de pelo de urso-polar. O tronco encontrava-se tombado sobre a secretária, com a cabeça caída sobre o tampo.
Elena respirou fundo. Examinara múmias no Egito e até dissecara algumas, mas aquele cadáver era bastante mais perturbador. A pele enegrecida, com aspeto de couro antigo, tinha quase o mesmo tom da secretária. Parecia, aliás, que os dois eram a mesma coisa. No entanto, o cadáver encontrava-se também excecionalmente bem conservado. As pestanas, intactas, enquadravam o branco dos olhos abertos. Quase dava a impressão de que a figura poderia pestanejar a qualquer momento.
— Parece que o nosso comandante se afundou com o navio — disse Nelson, sem dar importância ao cadáver e focado no dispositivo.
— Talvez quisesse proteger isto — disse Mac, desviando o feixe da lanterna para os braços estendidos sobre a secretária. As mãos esqueléticas seguravam uma caixa de metal, um quadrado com cerca de sessenta centímetros de largura e quinze de altura. A caixa exibia o mesmo tom enegrecido e parecia ter dobradiças no lado mais afastado.
— O que está dentro da caixa? — perguntou Elena, aproximando-se de Mac e retirando algum conforto da sua presença.
— Talvez possa dizer-me.
Mac estendeu o braço e levantou a tampa. Uma luz forte radiou do interior. Elena desviou os olhos um instante, mas depressa percebeu que era apenas a luz da lanterna de Mac devolvida pelo conteúdo dourado da caixa.
Aproximou-se.
— É um mapa...
Chocada, Elena estudou aquela representação tridimensional de mares, oceanos, continentes e ilhas. Passou o dedo pelo corpo de água principal no centro, representado num precioso lápis-lazúli.
— Isto só pode ser o mar Mediterrâneo.
O mapa englobava não só toda a extensão do Mediterrâneo, mas também o Norte de África, o Médio Oriente, a Europa e os oceanos circundantes. Alcançava uma boa parte do Atlântico Norte, mas não chegava à Islândia nem à Gronelândia.
Estes marinheiros viajaram para lá dos limites do seu mapa.
Mas o que os levara a fazê-lo? Procuravam novos territórios? Ter-se-iam perdido? Ou será que fugiam de alguma ameaça? A mente de Elena encheu-se com centenas de perguntas.
Havia um elaborado dispositivo de prata embutido na parte superior do mapa dourado. Uma esfera com cerca de quinze centímetros de diâmetro. A superfície encontrava-se dividida por ponteiros curvos e rodeada por anéis longitudinais e latitudinais, todos eles gravados com símbolos e números árabes.
— O que acha que pode ser? — perguntou Mac, reparando no interesse de Elena pelo estranho objeto.
— É um astrolábio. Um instrumento usado por navegadores e astrónomos para determinar a posição de um navio em relação aos astros e até identificar estrelas e planetas. — Elena desviou o olhar para o climatologista. — A maioria dos primeiros astrolábios apresentava um desenho rudimentar, apenas discos planos. Este conceito esférico encontra-se muito à frente do seu tempo, diria mesmo séculos.
— E não é tudo — disse Mac. — Também temos isto.
O climatologista inclinou-se e acionou uma alavanca no flanco da caixa, mais ou menos onde a mão do comandante morto repousava. Ouviu-se um tiquetaque e a esfera começou a rodar, impulsionada por um mecanismo escondido. Um movimento atraiu os olhos de Elena para o mapa, mais concretamente para a área do mar Mediterrâneo. Um pequeno barco começou a deslocar-se no território que nos dias de hoje seria a Turquia e avançou pela superfície azul de lápis-lazúli.
— O que tem a dizer sobre isto?
Elena abanou a cabeça, perplexa.
Nelson aclarou a garganta.
— Acho que está na hora de nos irmos embora.
Elena e Mac viraram-se para ele. Nelson observava o ecrã de um aparelho portátil. Rodou um botão e ouviu-se uma sucessão de estalidos.
— O que se passa? — perguntou Mac.
— Lembram-se dos recursos que aqui se encontram à espera de serem extraídos? Pois bem, não vos falei de um em especial. Urânio. — Nelson segurou o aparelho mais alto. — Na primeira vez que aqui estivemos, esqueci-me de trazer um contador Geiger. Um erro que só agora corrigi.
Elena olhou para cima, como que a visualizar a rocha e o gelo que encapsulava o navio.
— Está a dizer-nos que estamos no meio de um depósito de urânio?
— Não. É a primeira vez que o meu contador acusa uma leitura. E só aconteceu depois de o Mac abrir a caixa. — Nelson aproximou o contador do mapa. — Esta engenhoca é radioativa.
Mac praguejou e fechou rapidamente a caixa.
Os três abandonaram de imediato os aposentos do comandante.
— Qual foi o valor da leitura? — perguntou Mac.
— O equivalente a uma radiografia hospitalar por cada minuto que estivemos lá dentro.
— Nesse caso, é melhor deixarmos aquela coisa sossegada. Pelo menos, por enquanto. — Mac conduziu o grupo pelo porão do navio. — Mantemos os guardas à entrada do canal, só para o caso de isto chegar aos ouvidos das pessoas erradas, e regressamos mais tarde com equipamento apropriado. Depois levamos a engenhoca para um lugar seguro.
Abandonaram o navio e encaminharam-se para o pequeno barco a motor. O plano de Mac fazia sentido, mas Elena detestava a ideia de ficar à espera para saber mais. Lançou um último olhar ao navio encalhado, ansiosa por conhecer a sua história.
No instante em que se virou, uma poderosa explosão ecoou pelo canal. O rio galgou as margens, pedaços de gelo soltaram-se e caíram na água.
A arqueóloga correu para junto de Mac.
— Outro terramoto glacial?
— Não...
Mal o eco da explosão se desvaneceu, foi substituído por uma feroz sucessão de estampidos.
Elena fitou Mac, com os olhos arregalados.
O climatologista pegou-lhe na mão.
— Isto são tiros. Estamos a ser atacados.
2
21 de junho, 12h28 GMT
Reiquiavique, Islândia
Quem no seu perfeito juízo achou que isto era uma boa ideia?
Contrariado, Joe Kowalski bufou ruidosamente e afundou o corpanzil nas águas escaldantes da nascente térmica. Gotas de suor corriam-lhe pela testa. As pontas dos dedos engelhadas lembravam passas de uva. Franzindo os lábios, inalou uma vez mais o odor pútrido daquelas águas sulfurosas. Receava que o maldito cheiro se colasse à pele o dia inteiro. Não era certamente o que imaginara quando ouvira as palavras «desvio romântico».
Essa tinha sido a justificação que a namorada, Maria Crandall, lhe apresentara para visitarem a Lagoa Azul. A estância turística localizava-se no centro de um campo de lava negra pontilhada de tufos de musgo verde, a meio caminho entre o Aeroporto Internacional de Keflavík, na Islândia, onde tinham aterrado uma hora antes, e o pequeno aeródromo nos arredores de Reiquiavique, de onde saíam os únicos voos para a Gronelândia. Para mal dos seus pecados, o próximo só partiria dali a três horas.
Com esse tempo todo para matar, Maria sugerira aquele desvio.
Suspirando, Kowalski ergueu o braço da água para consultar as horas e depois abanou a cabeça diante da visão do pulso nu. A falta do relógio recordou-o dos três avisos que ele e Maria receberam durante o registo naquele recanto da estância, a que chamavam Retiro.
Primeiro foi-lhes dito que, de forma a preservar a pureza das águas, deviam tomar duche antes de entrarem nas nascentes. O duche constituíra a única parte da experiência que apreciara. Lembrou-se de como ensaboara cada centímetro do corpo esguio de Maria, apreciando as suas curvas quando ela se apoiara numa das longas pernas, o modo como enrolara o cabelo louro molhado num carrapito no cimo da cabeça, a forma como os seios dela se empinavam de cada vez que...
Deixa-te disso, ordenou a si mesmo, ajeitando a sua posição dentro da água. É melhor pensares noutra coisa.
Aquilo era um lugar público.
Para se distrair, pensou no motivo que o trouxera até ali.
O segundo aviso dizia respeito à proibição do uso de telemóveis na zona das nascentes. Era-lhe igual ao litro, sobretudo quando tinha sido uma chamada inesperada do chefe, o diretor Painter Crowe, que o arrancara do conforto do calor de África e o metera a caminho, sem apelo nem agravo, do inferno gelado que dava pelo nome de Gronelândia.
Dias antes, viajara com Maria para o Congo, onde ambos tencionavam passar uma semana no Parque Nacional de Virunga. Maria guardava a esperança de reencontrar — ou pelo menos avistar — Baako, o gorila das terras baixas que ali libertara dois anos antes. Ele próprio alimentara a esperança desse reencontro. O calmeirão peludo, a quem se afeiçoara sem querer, deixara-lhe um vazio no coração. Em virtude disso, não tivera outra alternativa a não ser esconder a desilusão quando Painter ligou a comunicar uma descoberta na Islândia, sobre a qual queria ouvir a opinião abalizada de Maria. Maria tinha um duplo doutoramento em genómica e ciência comportamental, com uma especialização em tudo o que dizia respeito à Pré-História. Ao que parecia, um antigo navio, contendo um tesouro incalculável, fora encontrado nas profundezas de um glaciar. Maria ficara imediatamente intrigada e sugerira a ajuda de uma antiga colega da Universidade de Columbia, que se especializara em arqueologia náutica.
Assim sendo, ficara combinado que os dois se encontrariam com a amiga de Maria mal aterrassem na Gronelândia.
Kowalski preparava-se para erguer novamente o pulso quando se lembrou do terceiro aviso acerca daquele recanto da estância. A água salgada geotermal era rica em sílica cáustica que danificava objetos metálicos. Isso significava que colares, anéis ou relógios teriam de ficar guardados no cacifo dos balneários, o que incluía o seu vulgar Timex.
O relógio não era, porém, o bem pessoal que mais lhe custara deixar no cacifo.
Afundou mais o corpo na água.
Na sua cabeça, imaginara que o reencontro com Baako lhe podia proporcionar a oportunidade perfeita para algo que tencionava fazer. Obviamente, a oportunidade perdera-se. Portanto, quando Maria lhe sugeriu aquele «desvio romântico», ficara até animado com o que podia ser uma boa solução de recurso. Lembrava-se que imaginara palmeiras, banhos de espuma e taças de champanhe. Franziu o sobrolho para a realidade em redor: piscinas de cimento interligadas, cheias de água sulfurosa, rodeadas de penhascos irregulares de rocha vulcânica.
Abanou a cabeça.
Se calhar, não estava destinado a acontecer.
Em bom rigor, também nunca percebera como é que uma mulher como Maria se interessara por ele. Não passava de um antigo soldado da marinha, que por um capricho do destino acabara num grupo de elite secreto com ligação à DARPA. Os colegas da Sigma tinham sido recrutados de várias unidades das forças especiais e treinados em diferentes disciplinas científicas. Ele possuía apenas um certificado de ensino médio e uma habilidade inata para fazer explodir coisas, o que lhe valera a posição de especialista de demolições do grupo. Embora se orgulhasse do seu papel na unidade, nunca tinha sido capaz de fugir a uma forte sensação de insegurança, de que era uma fraude comparado com os outros. O símbolo da Sigma era representado pela letra ? do alfabeto grego, que significava a «soma das partes», a fusão do intelecto e da capacidade física, do soldado e do cientista. No entanto, sabia que à Sigma interessava mais a dimensão dos seus bíceps do que a acutilância do seu raciocínio.
E consigo viver com isso.
Receava, porém, que não fosse suficiente para outra pessoa.
Um assobio desviou-lhe a atenção para a figura elegante de Maria, que nadava de costas ao seu encontro, com uma bebida em cada mão, deslizando sobre a água só com a ajuda das pernas.
— E se desses uma ajudinha, matulão?
Kowalski sorriu-lhe e aplaudiu discretamente aquela exibição de destreza.
— Sabes, devias deitar fora a bata do laboratório e começar a servir às mesas. Ganhavas uma fortuna em gorjetas, sobretudo se vestisses esse biquíni.
Maria deslizou até ele e sentou-se ao seu lado sem entornar nem deixar cair as bebidas.
— Toma.
Kowalski aceitou o copo alto, cheio até acima com um líquido verde.
— Calculo que isto não seja cerveja?
— Não, aqui só se vende saúde.
— Estou a ver, foi por isso que me trouxeste um copo de lodo?
— Deixa lá, é fresquinho. Tiraram-no do fundo da piscina esta manhã.
Kowalski lançou-lhe um olhar dos dele, como que a tentar perceber se aquilo era uma piada.
Maria revirou os olhos e encostou-se a ele.
— É um batido, rapaz. Couve e espinafre, acho eu...
Kowalski ergueu o copo contra a luz.
— Acho que mais depressa bebia o lodo da piscina.
— Talvez tenhas sorte, podem ter posto um bocadinho, mas também adicionaram banana. O que parece apropriado. — Maria ergueu o copo. — A Baako.
Kowalski cheirou o copo.
— Credo, acho que nem um gorila bebia isto.
— Nem depois de eu ter subornado o empregado do bar para acrescentar três dedos de rum ao teu?
— A sério?
Kowalski voltou a estudar a mistela verde e bebeu um gole a medo. Sentiu o sabor da banana e depois o travo adocicado do rum a picar-lhe a língua e o nariz. Acenou com a cabeça.
Vá lá, já bebi pior.
Maria deu dois ou três goles no seu copo e fitou-o com os enormes olhos azuis.
— Escusado será dizer que pedi ao empregado para adicionar quatro dedos de rum ao meu.
Kowalski lançou-lhe um olhar de cão abandonado.
Maria deslizou a mão livre sobre a coxa dele e por baixo da bainha dos calções de banho.
— Não podes beber muito. Tenho planos para ti quando estivermos outra vez debaixo daquele chuveiro, e sei que não aguentas o álco...
— Peço desculpa — pigarreou uma voz nas costas de ambos.
Kowalski não ouvira o funcionário da estância aproximar-se. Detestava que o apanhassem de surpresa, sobretudo num momento mais íntimo.
— Precisa de alguma coisa? — perguntou num tom brusco.
O funcionário magro, vestido com um polo, debruçou-se com um tabuleiro nas mãos, onde trazia um telemóvel.
— Não queria interromper, mas tem uma chamada. A pessoa diz que é urgente.
Kowalski alternou o olhar entre o tabuleiro e Maria. Não precisava de adivinhar quem era o autor da chamada.
Maria retirou a mão que pousara na coxa dele.
— O diretor parece determinado em interromper-nos.
A quem o dizes...
Kowalski pegou no telemóvel e encostou-o ao ouvido.
— O que aconteceu desta vez?
12h40
De volta ao balneário, Maria secou o cabelo com uma toalha. Achou que seria melhor não utilizar o secador, com medo de que o ruído do aparelho os impedisse de ouvir o toque do telefone satélite.
Minutos antes, o diretor Crowe usara a linha fixa da estância para comunicar que havia uma situação a decorrer na Gronelândia. Quando estivessem a sós, voltaria a ligar para o telefone de Joe com mais pormenores.
Para Maria, o diretor dissera o suficiente.
Uma situação na Gronelândia...
Temendo o pior, sentiu o peso no peito e na consciência. Era por causa dela que Elena se encontrava na Gronelândia, a fim de investigar o tal navio.
Se lhe acontecer alguma coisa...
Observou no espelho o reflexo de Joe, que vestia as calças de ganga pretas. Enquanto pegava no resto da roupa, ele coçou a mancha espessa de pelos que pouco disfarçava os músculos peitorais e a linha bem definida dos abdominais. Resmungando, ele vestiu a camisola cinzenta de algodão com capuz e por fim colocou o boné dos Yankees sobre a cabeça rapada.
Quando ele se virou, Maria tentou decifrar a expressão no rosto duro, a tensão nos lábios cerrados sob o nariz ligeiramente torto, mas apenas sentiu uma impaciência semelhante à sua. Ele aproximou-se com o seu metro e noventa a agigantar-se no reflexo do espelho. Maria deu-lhe um toque com o cotovelo, forçando-o a recuar um passo para poder alcançar a blusa, mas também para dar a si mesma algum espaço para respirar. Às vezes, parecia-lhe que Joe ocupava a totalidade de qualquer divisão onde entrava. Volta e meia, isso era demais.
— Estás bem? — perguntou ele.
Maria tentou disfarçar o ligeiro rubor na face enquanto abotoava a blusa.
— Estou preocupada. Detesto ficar à espera.
— A tua amiga está bem, vais ver.
— Não podes saber isso — disparou ela.
Enfiou os pés nas velhas botas de caminhada, a ansiedade a converter-se em raiva. Joe queria apenas tranquilizá-la, protegê-la, mas era uma característica dele que começava a mexer-lhe com o sistema nervoso.
Dois anos antes, quando se tinham conhecido, achara aquele homem excitante — perigoso até — e certamente diferente de todos aqueles com quem tivera uma relação. Os homens com quem lidava no ambiente académico eram todos a atirar para o lado intelectual, mas depois aquela besta enorme irrompera no seu mundo. Barulhento, rude, viciado em charutos fedorentos. Nunca se imaginara ao lado de um homem daqueles. Mas ele fazia-a rir-se — com gosto e com frequência. E, sim, o corpo dele deixava-lhe a cabeça a andar à roda e o sexo era fabuloso.
Mas isso chegava-lhe?
Nesses dias tumultuosos que marcaram o primeiro encontro, vislumbrara sinais de uma profundidade oculta naquela armadura de músculos, sobretudo no modo como ele lidara com o jovem gorila Baako. Havia uma ternura que transparecia por entre pequenas frestas sempre que ele e Baako comunicavam por linguagem gestual, e a verdade é que os dois tinham criado uma relação semelhante à de pai e filho. Nos meses mais recentes, porém, essas frestas pareciam ter-se fechado. Era uma das razões por que viajara com ele para África. Tinha esperança de que um reencontro com Baako pudesse reabrir as frestas, permitindo um novo vislumbre da verdadeira essência do homem que tinha ao seu lado.
A oportunidade esfumara-se e deixara-a a interrogar-se se haveria futuro naquela relação. Mais importante, se ela própria desejava que houvesse.
Maria crescera com a irmã gémea, Lena. Embora apreciasse a intimidade que só era possível entre duas pessoas que haviam partilhado o mesmo útero e partilhavam o mesmo ADN, tentara sempre lutar contra essa dependência genética. Sempre quisera viver como uma mulher independente, ser ela própria, livre da sombra de outra pessoa.
Mas depois conhecera Joe, um homem cuja sombra era inevitavelmente enorme — e não apenas em termos físicos. Nos últimos tempos, ele tornara-se cada vez mais protetor, a ponto de se tornar possessivo.
Para piorar o cenário, nas últimas semanas parecia cada vez mais fechado, as poucas palavras que lhe dirigia tinham sido substituídas por grunhidos. Talvez a novidade da relação tivesse esmorecido. Se calhar, fartara-se dela.
Ou fui eu que me fartei dele?
O toque estridente do telefone satélite desviou-lhe a atenção dos seus pensamentos.
Joe pegou no aparelho e aproximou-se de Maria, curvando-se ligeiramente para que ela pudesse ouvir a conversa.
— Estamos só os dois — disse. — O que aconteceu na Gronelândia?
— Não quero que fiquem alarmados, mas, há cerca de dez minutos, fui informado da ocorrência de um tiroteio e talvez de uma explosão no glaciar onde a doutora Cargill se encontrava a investigar a descoberta arqueológica.
Maria endireitou as costas.
Oh, não...
— A costa inteira está envolta em nevoeiro, o que nos impede de conseguirmos confirmação visual do que se passa. Tanto quanto sabemos, pode ser apenas um caçador a afugentar um urso-polar. Em todo o caso, mais vale não arriscar. A aldeia mais próxima, Tasiilaq, dispõe de uma pequena força policial. Infelizmente, estão ocupados com uma missão de salvamento e não podem fazer nada por enquanto. Seja como for, o único agente disponível foi enviado para o local.
— E nós? Quais são as ordens?
— Quero que tentem lá chegar o mais rápido possível. Contactei a marinha. A nossa base na Islândia foi desmantelada, mas recentemente a marinha foi autorizada a estacionar no terreno uma esquadrilha de aviões P-8 Poseidon, a fim de monitorizar a atividade de submarinos russos no Ártico.
— Quer dizer que vamos apanhar uma boleia — disse Joe.
— Um dos Poseidon está a abastecer no aeroporto internacional. Em quarenta e cinco minutos, consegue deixar-vos no Aeroporto de Kulusuk, a pouco mais de vinte quilómetros de Tasiilaq. O helicóptero que vos aguarda lá irá levar-vos até ao glaciar se as condições meteorológicas o permitirem.
Naquelas últimas palavras, Maria detetou a evidente preocupação do diretor.
— As condições meteorológicas?
— Um invulgar vento catabático está a varrer o interior e é capaz de atingir a costa nas próximas duas ou três horas.
— Catabático? — perguntou Maria.
— Um vento descendente de alta intensidade, cujas rajadas podem ultrapassar os trezentos quilómetros hora. Escusado será dizer que não há nada que possa voar nessas condições.
Joe riu-se.
— Portanto, está a pedir-nos que voemos ao encontro desse furacão antes que a área fique totalmente isolada?
— Vocês são os únicos que podem lá chegar a tempo — admitiu Painter. — Entretanto, estou a mobilizar toda a gente aqui em Washington, só para o caso de isto correr mal. Mas espero que não chegue a tanto.
— Mas também não vai correr riscos — acrescentou Maria.
— Não. E a doutora sabe bem porquê.
Maria sabia, claro. Elena Cargill não era apenas uma amiga querida, era também filha de um senador. Desviou o olhar para Joe, deixando que ele percebesse o seu medo, a sua culpa.
E fui eu que a meti nesta situação.
3
21 de junho, 10h48 WGST
Glaciar Helheim, Gronelândia
Elena tremia na escuridão fria do porão do antigo navio árabe. O terror deixara-lhe o coração na garganta, e procurava desesperadamente uma maneira de fugir dali. Avaliara várias possibilidades: avançar pelo canal acima, esconder-se numa fenda no gelo, tentar nadar em direção ao mar sem ser detetada pelo inimigo que se aproximava.
A conclusão era sempre a mesma.
Estamos encurralados.
Mac e o geólogo Nelson também se encontravam no navio com ela. Cada um ocupava um dos lados do buraco no casco, com John deitado no meio dos dois, empunhando a única arma que tinham. Ao ouvir os primeiros tiros, o piloto inuíte retirara uma caçadeira que guardava debaixo do banco do barco antes de baterem em retirada para ali.
Naquele momento, não se ouvia um único som.
Os tiros tinham parado um minuto antes, mas Elena não alimentava a ideia de que os atacantes pudessem ter retirado. Pela ferocidade do tiroteio, parecia-lhe óbvio que devia tratar-se de um grupo numeroso. A violenta explosão que sacudira o gelo, provavelmente uma granada, também lhe dizia que não se encontravam armados apenas com espingardas de assalto. Por fim, o grito que assinalara o fim do tiroteio, e que fizera John estremecer, era um bom indicador do destino dos seus primos à entrada do túnel.
Sem mover um músculo, John mantinha o rosto colado à coronha da caçadeira, o cano duplo apontado na direção do canal de degelo. Ao seu lado, encontrava-se um cinto de couro com cartuchos vermelhos. Onze, contara Elena, a que podia somar os outros dois na arma. Mac dissera-lhe que os cartuchos não continham chumbos soltos, mas um único pedaço sólido, visto serem feitos para matar ursos-polares.
Mesmo assim, dificilmente aquela arma serviria para repelir um grupo numeroso de atacantes. Se tencionavam sobreviver, precisavam de outro plano.
Nelson foi o primeiro a avançar com uma sugestão, uma possibilidade que ela própria não levara em linha de conta.
— Porque é que não lhes damos o raio do mapa? — exclamou. — Aquilo é de ouro, não é? Deixamo-lo na margem e estes ladrões que o levem. Por muito valioso que seja, não vale as nossas vidas.
A sugestão não convenceu Elena, que detestava a ideia de perder um artefacto histórico daquele calibre.
— E quem nos garante que isso serviria de alguma coisa? Podem pensar que o mapa não é o único tesouro a bordo do navio.
— Ela tem razão — disse Mac. — Não sabemos quem lhes falou da nossa descoberta e muito menos o quanto pode ter exagerado acerca do que aqui está.
— Mas vale a pena tentar, não achas? — insistiu Nelson. — Continuamos escondidos e tentamos convencê-los de que não há mais nenhum tesouro aqui dentro. E se as palavras não resultarem, pode ser que a caçadeira do John os convença. Talvez prefiram sair daqui com uma coisa que é capaz de valer milhões, em vez de arriscar outro tiroteio que pode não dar em nada.
— Tens razão nesse ponto — admitiu Mac, desviando depois o olhar para Elena. Tinha uma das mãos a tapar a luz da lanterna, mas isso não impediu que ela se apercebesse da sua expressão comprometida, como que a lamentar a decisão que já estava tomada. — Vale a pena tentar, como disse o Nelson. Não se pode dizer que tenhamos uma alternativa melhor.
Elena cruzou os braços. Não estava convencida, mas não podia fazer nada contra a vontade da maioria.
— Certo, vamos buscar a maldita coisa antes que seja tarde — disse Nelson.
O geólogo avançou na direção da proa, levando Elena consigo.
Mac fez um compasso de espera para tranquilizar John.
— Voltamos num instante.
Quando se juntou aos outros, Mac destapou a lanterna. Elena desviou os olhos da luz e deu um passo atrás, esmagando com o calcanhar um caco de uma das vasilhas de barro. Cerrou os dentes, consciente do que acabara de fazer. A missão de um arqueólogo era preservar o que a história não destruíra durante séculos.
Olhou para os outros cacos de barro espalhados pelo chão do porão e depois para uma das enormes vasilhas. Aquela estava partida há muito tempo, mas as restantes continuavam intactas e por abrir.
Mac reparou na hesitação dela.
— Já as examinámos. As tampas foram seladas com cera. — Desviou o feixe da lanterna para a vasilha partida. — Pelo cheiro, calculo que contenham algum tipo de combustível. Óleo de baleia, talvez. Não quisemos partir nenhuma para descobrir.
Elena apreciou o respeito de Mac por aqueles objetos e rezou para que vivessem o suficiente para saberem se o palpite dele estava certo. Quando se preparava para virar as costas, ténues pancadas desviaram-lhe novamente a atenção para uma das vasilhas. Era como se houvesse qualquer coisa no interior do enorme recipiente.
Que raio?
— Vamos — insistiu Nelson, que nitidamente não se apercebera das pancadas.
Mac virou-se e continuou a avançar. Elena abanou a cabeça e seguiu atrás do climatologista, convencendo-se de que os ouvidos lhe estavam a pregar partidas.
Deve ser apenas água a pingar no convés.
Os três apressaram-se na direção dos aposentos do comandante.
Nelson foi a o primeiro a chegar, subiu os degraus e entrou na pequena divisão. Foi imediatamente buscar a caixa de metal em cima da secretária.
Elena ficou à porta. Lembrava-se bem do aviso do geólogo acerca da natureza radioativa daquele objeto. O mecanismo interno continuava a funcionar, pois ainda se ouvia o tiquetaque. Quando abandonaram a divisão à pressa, a alavanca que acionava o mecanismo devia ter ficado na posição de «ligado».
— Talvez seja melhor desligarmos o mecanismo — sugeriu quando Nelson se preparava para pegar na caixa. — Acho que não devemos mover o mapa enquanto está a funcionar. Não sabemos se isso pode estragar os mecanismos internos.
Nelson franziu o sobrolho.
— E então? Coitadinhos dos ladrões, recebem um mapa avariado. O mais provável é derreterem o ouro e a prata, para o venderem mais depressa.
Mac entregou a lanterna a Elena e foi ao encontro de Nelson.
— Mesmo assim, é melhor desligarmos isto.
Com a pressa de fazer as coisas, os dois acotovelaram-se ao pegar na caixa e Nelson esbarrou no cadáver mumificado. A cadeira tombou para um dos lados, juntamente com o corpo do comandante.
Elena encolheu-se perante o baque seco da carne congelada ao atingir o chão de madeira. Com o impacto, algo voou do colo do comandante e foi cair aos pés dela. Elena agachou-se e apanhou o pacote retangular. Estava embrulhado em pele de foca, as arestas endurecidas com cera antiga. Alguém tentara proteger o conteúdo contra os elementos, e o comandante guardara-o consigo até ao último minuto de vida.
Pressentindo que devia ser importante, guardou o pacote no bolso interior da parca e correu o fecho impermeável. Ainda agachada, desviou os olhos para a secretária e viu uma vareta saltar no meio do tampo. A vareta devia fazer parte de um mecanismo de mola, à semelhança de uma mina terrestre, e o peso da caixa era a única coisa que a mantinha no lugar.
Oh, não...
Conhecia histórias de armadilhas em túmulos egípcios inadvertidamente acionadas por saqueadores. Tentou avisar os dois companheiros.
— Não se me...
Um som profundo, como o de um gongo, ecoou dentro da secretária.
Sobressaltados, Mac e Nelson deram um passo atrás. Nelson deixou escapar um dos cantos da pesada caixa, que lhe saltou violentamente nas mãos. A tampa destrancada abriu-se.
Como que em câmara lenta, Elena viu o delicado astrolábio soltar-se do mapa. Reagindo depressa, Mac caiu sobre um joelho, equilibrando a sua ponta da caixa sobre a coxa. Estendeu o braço e apanhou a esfera em pleno ar, antes de esta cair no chão.
O climatologista suspirou de alívio.
O silêncio que se seguiu foi interrompido por um novo aviso sonoro. No cinto de Nelson, o contador Geiger crepitava com mais intensidade do que nunca.
— Fecha a tampa! — gritou Nelson.
Mac enfiou o astrolábio no bolso da parca e os dois voltaram a endireitar a pesada caixa. Nelson fechou a tampa, mas pouco ou nenhum efeito teve no contador Geiger, que continuou a acusar o mesmo nível de radioatividade. Os três trocaram olhares. Poderia o mecanismo na secretária ter acionado qualquer coisa volátil no interior do dispositivo?
Mac acenou com a cabeça na direção da porta.
— Vamos! Temos de pôr isto lá fora, antes que expluda ou algo do género.
Elena seguiu à frente com a lanterna, iluminando o caminho e as profundezas sombrias do porão. Um movimento chamou a sua atenção para o teto. Enormes martelos de bronze, ocultos nas traves do convés, balançaram num movimento de vaivém. Um a um, começaram a desferir violentos golpes contra as vasilhas alinhadas ao longo das paredes. As cabeças dos martelos depressa abriram buracos no barro. Cacos voavam pelo ar a cada impacto.
Enquanto Elena estava ali parada, um líquido preto oleoso começou a vazar dos enormes recipientes.
— Vamos! Vamos! — gritou Mac.
Elena despertou do transe e pôs-se em movimento. O feixe da lanterna iluminou o que pareciam ser veios verde-fluorescentes no óleo. Aquilo não era natural. Qualquer que fosse o conteúdo das vasilhas, com toda a certeza não era óleo de baleia.
A terrível certeza foi confirmada pelo contador Geiger de Nelson, que crepitou com mais intensidade.
— Meu Deus, está a brilhar! — disse Mac.
Elena demorou uma fração de segundo a compreender a afirmação do climatologista. O óleo parecia reagir à proximidade da caixa. Os veios verdes brilharam com mais intensidade, como se a caixa emitisse um sinal invisível que era captado pela estranha substância.
Elena abrandou, mas Nelson forçou-a a avançar.
— Não podemos parar. Temos de sair daqui!
— Esperem — disse Elena. — Conseguem ouvir?
Por cima do crepitar do contador Geiger, um estranho som ecoava pelo porão. Não era a primeira vez que o ouvia. Um bater suave. Continuava a dar a ideia de que provinha de algumas vasilhas, mas agora tornara-se uma espécie de raspar, como se algo estivesse a tentar escapar daqueles recipientes.
Fitou os companheiros.
— O que é...
Uma forte explosão sobressaltou-a. Virou-se na direção da abertura no casco. John disparara a caçadeira.
Oh, não...
Mac pousou a caixa.
— Fiquem aqui — disse, e correu ao encontro do piloto inuíte.
Elena apertou os dedos em torno da lanterna e olhou em volta. A mancha de óleo radioativo continuava a aumentar, quase a tocar-lhe os pés. Apesar do crepitar do contador Geiger, só conseguia ouvir aquele raspar macabro, em tudo semelhante ao som de unhas a deslizarem sobre um quadro negro. Um arrepio percorreu-lhe o corpo. Não sabia quais seriam as consequências de terem acionado aquela armadilha, mas tinha uma certeza.
Não devíamos ter vindo.
10h59
Mac deixou-se cair de barriga ao lado de John.
O inuíte recarregou a caçadeira com dois cartuchos novos, sem desviar o olhar do que acontecia lá fora. Concentrava a atenção na água que fluía no canal do degelo. Pontos de luz iluminavam as profundezas geladas, assinalando a presença de múltiplos mergulhadores. Mais perto, um corpo ensanguentado jazia na margem, vestido com um fato estanque de alta densidade.
Os malditos nadaram até aqui.
Ou aquele primeiro grupo de assalto, pelo menos.
Mac ouviu o rugir de um motor no início do canal. Havia outros a caminho, o que desfazia de vez a esperança de os primos de John terem sobrevivido.
Em cada lado do canal, dois pontos luminosos tornaram-se mais intensos. Metralhadoras emergiram do azul das águas e cuspiram uma chuva de balas na direção do velho navio. A madeira gelada do casco, porém, aguentou-se contra a fúria dos projéteis.
John disparou contra um dos atiradores, mas o atacante submergiu e deixou que o companheiro ripostasse contra o piloto inuíte. Os tiros foram mais certeiros, ricocheteando nas rochas em volta da abertura no casco. John rolou para um dos lados e fez novamente pontaria, mas o atacante já tinha mergulhado. Outros três emergiram noutro ponto do canal. Parecia o jogo da toupeira.
Mac sabia que os atiradores inimigos podiam insistir naquela tática até que John esgotasse as munições. Pousou a mão no ombro do companheiro.
— Não vale a pena, guarda os cartuchos para quando for mesmo preciso.
John anuiu com um grunhido e recarregou a caçadeira.
Mac deixou-se ficar ao lado dele.
Vamos ver no que isto vai dar.
Tornara-se evidente que não estavam a lidar com ladrões vulgares. O grupo era demasiado organizado, demasiado bem equipado.
O rugido do barco que se aproximava continuou a aumentar. Um Zodiac preto materializou-se no canal, abrandou e acabou por parar no limite do alcance da luz.
— ENTREGUEM O ATLAS DA TEMPESTADE E SAIRÃO DAQUI VIVOS! — berrou uma voz ampliada por um megafone.
Mac franziu o sobrolho. Visualizou o mapa dourado. Seria aquilo o Atlas da Tempestade? Se os atacantes lhe tinham dado um nome, era porque estavam muito mais bem informados do que eles.
Bem, estes tipos são tudo menos ladrões.
A ordem seguinte comprovou-o em definitivo:
— ENTREGUEM-NO À DOUTORA CARGILL, E ELA QUE O TRAGA ATÉ NÓS!
Mac não queria acreditar. Como é que aqueles homens sabiam que Elena estava ali?
— SIGAM AS INSTRUÇÕES E NINGUÉM TEM DE MORRER.
Claro que sim. Diz isso aos primos do John, meu filho da mãe.
— TÊM UM MINUTO!
Um ruído nas costas de Mac desviou-lhe a atenção. Elena e Nelson avançavam carregando a caixa entre os dois.
— Eu entrego-lhes o mapa — disse Elena. — Não temos escolha. Não podemos impedi-los de virem aqui buscá-lo, se quiserem.
Nelson acenou com a cabeça.
— Sim, não é com uma caçadeira que vamos conseguir fazer isso.
Mac fitou o par.
— O atlas ou lá como essa coisa se chama é a única razão de ainda não terem tentado um ataque frontal. Parece-me evidente que não querem correr o risco de o estragar. Se o entregarmos...
— Deixam de ter essa preocupação — concluiu Elena.
— Mesmo assim, podemos ganhar tempo ao cooperar — disse Nelson. — Cada minuto que continuamos vivos é uma oportunidade para encontrarmos uma solução. Caso contrário, é como se estivéssemos mortos.
Mac refletiu um pouco. Pelo menos o inimigo parecia demonstrar um interesse especial em Elena. Talvez quisessem usar os conhecimentos dela ou aproveitar a circunstância de ser filha de um senador, o que lhes serviria como uma apólice de seguro. Num caso ou no outro, se as coisas azedassem, talvez ela sobrevivesse. Além do mais, não se lembrava de nenhuma alternativa que não fosse ceder às exigências dos atacantes. Sobretudo com as coisas a acontecerem àquela velocidade. Mas Nelson também podia ter razão. Se tivessem mais tempo, quem sabe se não encontrariam uma solução?
— DEZ SEGUNDOS! — avisou a voz no megafone.
Dez segundos eram manifestamente insuficientes para encontrar uma solução, mas os problemas resolviam-se um de cada vez.
— Está bem — concedeu. — Vamos dar-lhes o que querem.
Por enquanto.
11h12
A lutar com o peso da caixa, Elena abandonou o navio e caminhou na direção da água. Devia pesar mais de trinta quilos, demasiado para carregar sozinha, e Nelson concordara em ajudá-la. Apesar de apavorada, não parava de pensar no mistério que tinha nas mãos.
O Atlas da Tempestade. Quem lhe dera esse nome? E como é que os atacantes o sabiam?
O mistério atenuava o medo, mas só um nadinha.
À medida que se aproximava da água com Nelson, um trio de mergulhadores emergiu do canal com as armas em riste. As máscaras de mergulho estavam equipadas com pequenas lanternas de lado. Os feixes de luz cortavam a escuridão como poderosos faróis.
A figura no centro do trio avançou. Ao aproximar-se o suficiente, apontou o cano da arma a Nelson e depois desviou-o na direção do navio.
— Larga a caixa e volta para o barco.
— Tudo bem, tudo bem — balbuciou o geólogo.
Elena e Nelson pousaram a caixa na margem rochosa. O companheiro lançou-lhe um olhar preocupado e encaminhou-se de volta ao navio. O atirador apontou a arma ao peito de Elena. Não precisou de lhe dizer para ficar ali quieta.
Elena aguardou, a tremer da cabeça aos pés.
Junto à margem, mas ainda com água pela barriga das pernas, outro atacante ergueu o pulso onde trazia um radiotransmissor. Parecia falar árabe. Elena conhecia um punhado de línguas, mas o barulho da corrente impedia-a de perceber o que ele dizia.
Em resposta à transmissão do atacante na margem, o rugido do motor do Zodiac subiu de tom e o barco avançou na direção de Elena, que contou cinco homens a bordo, todos equipados com os mesmos fatos de mergulho. Um deles manejava o leme. Dois estavam sentados nos flutuadores, com as armas levantadas. O par no centro do barco, junto à proa, destoava dos restantes. Um deles era uma torre de músculo e o outro uma figura pequena e magra, que empunhava o megafone.
O líder do grupo, sem dúvida.
Assim que o nariz do Zodiac tocou na margem, o líder desfez-se do megafone e saltou do barco. Foi quando Elena percebeu que se tratava de uma mulher. O fato de mergulho preto não deixava margem para dúvida. O capuz de neopreno cobria-lhe a cabeça e boa parte do rosto, mas as maçãs do rosto proeminentes, os olhos negros e a pele morena sugeriam que a mulher devia ser do Médio Oriente.
Elena desviou o olhar para o velho navio e depois para o mapa.
Árabes... talvez isso explique porque sabem tanto sobre esta descoberta.
Aquele mistério histórico continuava a intrigá-la, não conseguia evitá-lo.
Sem dizer uma palavra, a mulher morena avançou, apoiou um joelho no chão e abriu a caixa. O brilho do ouro iluminou-lhe o rosto. Elena estudou novamente o mapa, que parecia ter voltado ao seu estado inicial. O pequeno barco de prata regressara à posição original, um porto na costa da Turquia. Elena percebeu subitamente qual era a cidade em questão.
— Troia — murmurou.
A mulher levantou o olhar do mapa e inclinou ligeiramente a cabeça. Os seus olhos negros brilhavam.
— Pelos vistos, quem a enviou para este lugar não se enganou a seu respeito.
Elena não retirou nenhum conforto daquela constatação, que era também uma espécie de elogio. Reparou na cicatriz que dividia o lábio inferior da mulher e descia como um sulco branco ao longo do queixo e da garganta, até desaparecer sob a gola do fato de mergulho. A cicatriz não a tornava menos atraente. Apesar disso, havia um perigo palpável que irradiava dela, à semelhança da radiação emitida pelo mapa dourado.
Eram ambos belos, mas mortíferos.
Os olhos penetrantes da mulher cravaram-se em Elena.
— Onde está o resto? — perguntou.
— O resto?
A mulher apontou para o orifício que antes albergara o astrolábio em forma de esfera e através do qual se via um conjunto de engrenagens de bronze. Elena imaginou aquele elaborado mecanismo a movimentar o astrolábio como os ponteiros de um relógio.
— Onde está a Chave de Dédalo? — insistiu a mulher.
A Chave de Dédalo?
Elena não disfarçou a expressão confusa e usou-a para reforçar a mentira.
— Não sei nada acerca de chave nenhuma. Isto é tudo o que encontrámos.
A líder do grupo endireitou-se e berrou uma ordem em árabe para alguém atrás de Elena. Uma expressão que não lhe era estranha: taelimuha. Significava «ensina-lhe».
Virou-se e deu de caras com o gigante. Nem sequer se apercebera de que o homem saíra do barco. Tinha pelo menos dois metros e quinze centímetros, e sofria certamente de uma qualquer forma de gigantismo. O rosto era uma máscara de pregas e cicatrizes. As sobrancelhas eram pesadas e espessas, os olhos mortos e frios, como os de um grande tubarão branco.
O gigante cerrou um punho e deu-lhe um soco nos rins.
Elena gritou e caiu encolhida no chão. A dor impediu-a de respirar. As lágrimas que tentara conter jorraram abundantes e quentes.
A líder do grupo observou-a, imperturbável.
— Nunca mais me minta — disse. Depois, apontou na direção do barco e berrou para os homens em árabe, para que Elena conseguisse ouvir e perceber a ordem: — Recuperem a chave. Matem-nos a todos.
4
21 de junho, 11h18 WGST
Algures sobre o estreito da Dinamarca
Demasiado enervado para estar sentado, Kowalski caminhava ao longo da extensa cabina do P-8 Poseidon. Em vinte minutos, aquela era a oitava travessia.
Alcançou finalmente as armações metálicas na cauda da aeronave, semelhantes a garrafeiras, que guardavam as boias de sonar cilíndricas. Encostou-se e apoiou um braço no dispositivo que lançava as boias para o mar, que por sua vez detetavam os movimentos dos submarinos russos na região. Tamborilou com os dedos no tubo do lançador e com a outra mão, enfiada no bolso do guarda-pó de couro, apertou o celofane que envolvia um dos seus charutos cubanos.
Se o acender aqui, pode ser que ninguém perceba.
Não havia ninguém por perto. O possante avião tinha nove tripulantes e os respetivos postos situavam-se na dianteira. Como a tripulação mantinha os olhos cravados nos vários monitores, ocupada com as suas tarefas, o silêncio a bordo era quase absoluto, o que apenas aumentava a ansiedade.
Lá à frente, o comandante abandonou o cockpit e atravessou a cabina até às estações de monitorização, situadas a meio da aeronave. Parou para dizer qualquer coisa a Maria, que se encontrava sentada num lugar junto a uma das janelas de observação. O comandante riu-se de algo que Maria lhe disse, e a mão dele repousou demasiado tempo nas costas do banco.
Kowalski sentiu uma onda de calor subir-lhe pelo pescoço. O comandante era um homem novo, sorria com frequência e parecia-se demasiado com a personagem de Tom Cruise em Top Gun.
Kowalski deixou o charuto no bolso e avançou pela cabina.
Passou pelas secções que alojavam a maioria dos componentes eletrónicos e o armamento antissubmarino a bordo do avião. Acabou por encontrar o comandante junto à fila de cinco assentos no lado esquerdo, onde uma equipa de quatro homens e uma mulher observavam vários ecrãs. Monitorizavam o sofisticado sistema de radar APY-10 e o igualmente avançado sistema de suporte eletrónico ALQ-240.
No início do voo, depois de saber que Kowalski pertencera à marinha, o coordenador tático da equipa tentara explicar-lhe o funcionamento e as capacidades daqueles equipamentos. Não percebera patavina do que o homem dissera, escusado será dizer, circunstância que o recordara de que se tornara realmente um burro velho. Pelos vistos, a guerra moderna era coisa de jovens.
O comandante acenou-lhe com a cabeça.
— Vim avisá-lo de que vamos aterrar em dez minutos. É melhor juntar-se à doutora Crandall e colocar o cinto. Vamos apanhar mau tempo junto à costa.
Foi como se os deuses tivessem ouvido o comandante. O avião abanou com violência e Kowalski teve de deitar a mão a um dos assentos para se manter de pé. O comandante, por seu turno, que mais parecia colado ao chão, limitou-se a sorrir.
Filho da mãe...
— Como disse — continuou o comandante. — É melhor sentar-se e colocar o cinto.
Kowalski endireitou-se e preparava-se para regressar ao seu lugar quando o coordenador tático se virou no assento e tirou os enormes auscultadores dos ouvidos.
— Comandante Pullman, recebemos um relatório de outro Poseidon a caminho de Reiquiavique. Detetaram um possível submarino inimigo mais à frente, a deslocar-se a profundidade de periscópio ao longo da costa. Porém, com a tempestade pelas costas e o mar cheio de gelo solto, perderam o sinal e não conseguiram concluir a identificação. Querem saber se podemos varrer a zona antes de aterrarmos.
Kowalski consultou o relógio.
— Negativo. Precisamos de aterrar imediatamente. Podem jogar ao gato e ao rato com os russos noutra altura.
O comandante deixou de sorrir.
— Que eu saiba, ainda sou o comandante deste avião. O senhor e a doutora Crandall são apenas passageiros.
Um vento forte sacudiu de novo a cabina. Kowalski quase se estatelou ao comprido. O próprio comandante foi obrigado a segurar-se entre dois assentos. O sorriso evaporara-se de vez.
A voz do piloto fez-se ouvir do cockpit. Parecia preocupado.
— É melhor porem os cintos. A tempestade está a transformar-se num verdadeiro monstro. E a olhos vistos.
Kowalski lançou um olhar desafiador ao comandante.
— Acho que a mãe natureza acabou de despromovê-lo.
Pullman franziu o sobrolho e virou-se para o coordenador tático.
— Contacte a outra equipa. Pedido recusado. Temos de aterrar.
— Sim, comandante.
— E como precaução — acrescentou Pullman — prepare os três lançadores. Vamos largar um conjunto de boias daqui até à costa. — Desviou o olhar para Kowalski. — Não podemos continuar a voar, mas isso não quer dizer que não possamos continuar atentos ao que se passa nestas águas.
Kowalski encolheu os ombros e encaminhou-se para o seu lugar.
Camarada, faz o que quiseres para mostrar que continuas no comando.
Atravessou a cabina e sentou-se no lugar ao lado de Maria.
— Que conversa era aquela lá atrás? — perguntou Maria.
— Estava apenas a certificar-me de que não há desvios.
Maria rodou no assento e olhou por cima do ombro. A sua mão encontrou a dele e apertou-a com força.
— Achas que pode acontecer?
— Não enquanto eu estiver aqui.
Maria recostou-se no assento e suspirou um tudo-nada aliviada. Tentou largar-lhe a mão, mas ele não soltou a dela. A pele estava quente; o rosto, porém, permanecia pálido. Kowalski conseguia ler a ansiedade e a culpa nos olhos vidrados. Sabia que não valia a pena fazer-lhe promessas vãs em relação à segurança da amiga. Só lhe podia oferecer os factos.
— Estamos quase a aterrar — prometeu.
Só espero que não seja tarde demais.
5
21 de junho, 11h20 WGST
Glaciar Helheim, Gronelândia
Mac viu Elena contorcer-se no chão depois de ter sido esmurrada nos rins pelo gigante de olhos inexpressivos.
Filhos da mãe.
Deu um passo em frente, pronto para abandonar o navio e correr em auxílio dela, para a defender.
Nelson agarrou-o pelo ombro.
— Não há nada que possas fazer. — Cravou os dedos no tecido da parca e puxou o companheiro para trás. — Além disso, vamos ter companhia.
Lá fora, a líder do grupo berrara uma ordem em árabe. Os atacantes dispersaram-se e correram curvados na direção do navio encalhado, com o intuito de o flanquearem. Um deles abriu fogo para cobrir o avanço dos restantes.
John ripostou com dois tiros de caçadeira. O atacante que disparava voou para trás com um buraco no peito. O corpo caiu no canal. John rolou para um dos lados e esquivou-se às balas dos outros. Escapou sem um arranhão e juntou-se a Mac e Nelson. Lá fora, os atacantes continuaram a avançar, mais cautelosos, mas isso não alterava a situação.
— Precisamos de um sítio para nos escondermos — disse Nelson, apontando na direção dos aposentos do comandante. — Podemos barricar-nos ali dentro, se calhar.
Sem se lembrar de nada melhor, Mac apontou a lanterna e empurrou o companheiro.
— Vamos.
Os três correram pelo porão. O bater das botas transformou-se em chapinhar assim que alcançaram o óleo derramado no chão. Com o mapa no exterior do navio, o líquido tornara-se novamente negro.
Mas isso levantava outra questão.
— Talvez esta porcaria seja inflamável — sugeriu Mac, enquanto atravessavam a mancha de óleo. — Se lhe pegarmos fogo, talvez funcione como uma barreira. Pode ser que os detenha.
— Ou acabamos mortos — disse Nelson. — Não te esqueças de que isto é um barco de madeira. Mais vale deixarmos o fogo para último recurso.
Enquanto Nelson falava, uma das vasilhas atrás dele iluminou-se com o familiar fulgor verde. O brilho saía das fissuras abertas pelos martelos de bronze. Mac reparou que algo se movia no interior. O movimento era acompanhado pelo som de unhas a raspar no barro.
Parou e semicerrou os olhos.
Meu Deus...
Havia realmente qualquer coisa naquelas vasilhas, mas o quê? Como é que sobrevivera tantos anos? Teria sido preservado pelo óleo? Regressou ao momento em que martelos de bronze partiram as vasilhas, o óleo derramado como as águas de uma mulher grávida. Que criatura se preparava para nascer?
— Acorda — disse Nelson — Preciso que apontes a lanter...
— Não te mexas! — avisou Mac.
Mas era demasiado tarde.
Atrás de Nelson, o fulgor verde brilhou com mais intensidade. Ato contínuo, a vasilha estilhaçou-se, libertando o que se escondia no interior. À semelhança de um ninho de aranhas, centenas de criaturas que lembravam caranguejos espalharam-se pelo chão. Cada uma tinha o tamanho de um prato, com longas patas articuladas. Correram em todas as direções, cobrindo o chão, as paredes curvas, as vigas. À medida que as criaturas avançavam, as articulações libertavam a mesma substância verde existente no óleo, como que alimentadas por aquele líquido maligno.
Naquele brilho medonho, Mac percebeu que as carapaças rígidas não eram feitas de osso ou quitina, mas de bronze. A revelação deixou-o perplexo. Não olhava para criaturas vivas, mas para bestas construídas e forjadas em fogos antigos e alimentadas por aquela substância volátil.
Como que a comprovar esta conclusão, uma das criaturas irrompeu em chamas, e depois outra, e mais outra. O fluido verde parecia reagir à humidade no ar. No entanto, não eram fogos efémeros. As furiosas criaturas continuavam a espalhar-se, esbarrando umas contra as outras e incendiando-se.
Uma correu ao longo de uma trave do teto e deslizou por uma estalactite de gelo. O intenso calor do corpo da criatura derreteu o gelo, porém, em vez de gotas de água, uma chuva de pingos em chamas caiu na poça de óleo no chão. Parecia que o combustível no interior das criaturas era capaz de incendiar a própria água.
Impossível...
A mente de Mac debateu-se para assimilar a dantesca visão, o corpo petrificado pelo horror do espetáculo.
A reação de Nelson foi mais vigorosa. Gritou e cambaleou para a frente. Mac amparou-o pelo braço, mas os gritos desesperados do companheiro continuaram a ecoar pelo porão. Pareciam ter força suficiente para estilhaçar mais duas vasilhas, que libertaram outras tantas centenas daquelas pequenas monstruosidades de bronze. A nova horda de criaturas espalhou-se com a mesma ferocidade da anterior.
Nelson contorcia-se e dava palmadas nas próprias costas.
— Tira-me isto! Tira-me isto!
Mac virou-o e deparou-se com uma criatura nas costas do amigo. Tinha as patas afiadas cravadas na parca e rasgava e queimava furiosamente o grosso tecido, a fim de alcançar a carne.
Antes que Mac pudesse fazer alguma coisa, outra criatura trepou pelo ombro de Nelson e agarrou-se à sua garganta. Mac tentou soltá-la com a lanterna, mas as patas já tinham perfurado a carne. A pele escureceu e começou a fumegar.
Nelson contorceu-se em agonia, com o pescoço esticado e a boca retorcida. Uma fiada de fumo subiu por entre os lábios abertos, juntamente com um gorgolejar animalesco. Mac pensou na criatura que deslizara pela estalactite de gelo, convertendo água em fogo.
Seria igual com o sangue?
Com o coração a mil, Mac atirou a lanterna na direção da cabina do comandante e agarrou na carapaça cravada na garganta de Nelson. Conseguiu arrancá-la e atirou-a pelo ar. Um rasto de sangue e chamas acompanhou a trajetória da criatura. Nelson caiu-lhe nos braços, gemendo. A dor e o choque eram as únicas coisas que o mantinham semiconsciente. Mac tapou a ferida com a mão, abafando as chamas que dançavam no rebordo da pele enegrecida.
— Ajuda-me! — pediu Nelson.
John mantivera-se por perto, às voltas sobre si mesmo com a caçadeira nas mãos. Avançou e utilizou a coronha da arma para tirar a segunda criatura das costas de Nelson.
Os dois apoiaram o companheiro ferido entre ambos e seguiram na direção da cabina do comandante. Mais à frente, porém, iluminado pela lanterna que Mac atirara, o chão de madeira estava coberto pelas pequenas bestas de bronze. Outras tantas avançavam pelas paredes ou agarravam-se às traves do teto. Não havia maneira de passarem sem serem engolidos pela fúria das criaturas.
No entanto, Mac reparou que os estranhos seres evitavam o óleo derramado. Parecia-lhe, aliás, que era a única razão pela qual ele e John não haviam sido atacados. Nelson tivera a pouca sorte de se encontrar demasiado perto da primeira vasilha que rebentara, e as duas criaturas deviam ter sido arremessadas na sua direção, única ilha naquele mar negro.
Mac visualizou os martelos a partirem as vasilhas, o óleo a derramar-se. Poderia o espesso líquido funcionar como uma espécie de isolante? Precisaria de ser drenado das vasilhas, para as criaturas despertarem?
Disposto a testar a teoria, avançou até ao limite da poça negra. Arrastou a bota pelo óleo e salpicou o caranguejo que se encontrava mais perto. Ao cair sobre a carapaça de bronze, o líquido negro apagou de imediato as chamas douradas. O bicharoco afastou-se umas dezenas de centímetros, deixando um rasto de óleo no chão seco, e depois parou de se mexer.
John olhou para Mac.
A teoria parecia ter resultado, mas de que forma podiam usar esse conhecimento para se salvarem? A distância que faltava percorrer era demasiada para abrirem caminho com salpicos. Podiam rebolar no chão, cobrir a roupa com o óleo e usá-lo como uma barreira repelente, mas até que ponto queriam correr esse risco?
Uma rajada de metralhadora roubou-lhes a decisão. Mac baixou-se e as balas ricochetearam no chão coberto de óleo e nas paredes. Uma delas raspou a face de John. Mac sentiu um puxão no braço. Penas de ganso esvoaçaram de um buraco na parca e a cabeça de Nelson foi atirada com força contra a sua. Sentiu salpicos de sangue quente, o impacto de fragmentos de osso.
Horrorizado, olhou para o companheiro e verificou que metade do seu rosto desaparecera. Mesmo assim, não largou o amigo e atirou-se para o chão.
John fez o mesmo.
Mac virou-se na direção da popa a tempo de ver um punhado de atacantes entrar pela abertura e espalhar-se pelo porão. John rodou o corpo e ergueu a caçadeira.
— Não! — avisou Mac.
Os tiros foram muito mais potentes do que os anteriores gritos de Nelson, e as consequências mais drásticas. De ambos os lados do porão, uma a seguir à outra, as vasilhas estremeceram e estilhaçaram-se, libertando uma nova horda de criaturas.
Numa confusão de pernas articuladas, a mancha furiosa avançou na direção dos recém-chegados. O líquido verde nos corpos de bronze incendiou-se. Em pânico, os atacantes abriram fogo, o que só teve o condão de atrair mais criaturas, que correram por todas as superfícies, atropelando-se umas às outras, na pressa de chegar aos alvos.
São atraídos pelo ruído...
Mac percebeu que os caranguejos de bronze não tinham olhos. Desprovidos de visão, respondiam apenas a sons. Olhou na direção da cabina do comandante. Os que ali se encontravam também se deslocavam em rios dourados, atraídos pelos tiros e pelos gritos na popa do navio. Um caiu do teto. As chamas apagaram-se mal aterrou no óleo.
Com uma expressão de tristeza e culpa, Mac largou por fim o corpo de Nelson. Deu uma cotovelada a John. Aquela era a única oportunidade para alcançarem a cabina do comandante. Levantaram-se e correram curvados pelo porão.
Mac foi o primeiro a alcançar a porta, deixou que John entrasse e apanhou a lanterna do chão. Lançou um último olhar à outra ponta do porão, iluminada pelo clarão infernal de chamas douradas e pelos ocasionais lampejos das armas. Cobertos por um frenético mar de bronze que os perfurava e rasgava sem clemência, os atacantes que invadiram o navio sacudiam-se e gritavam com os corpos a libertar fumo, a carne a flamejar, o sangue a escaldar nas veias.
Incapaz de continuar a assistir àquilo, Mac recuou para o interior frio e escuro dos aposentos do comandante. No momento em que se preparava para fechar a porta, uma gigantesca vasilha no lado esquerdo do porão — que facilmente devia ter o dobro do tamanho das outras — estilhaçou-se e algo colossal emergiu do interior. A mente de Mac esforçou-se por dar sentido às enormes placas de bronze em movimento, às flamejantes mandíbulas serrilhadas, aos pistões nas patas.
John agarrou-o e puxou-o para trás, fechando finalmente a porta àquela visão infernal. O inuíte não perdeu tempo e correu a tranca de bronze, fechando os dois ali dentro, trancando os monstros lá fora.
Não, aquilo não eram monstros.
John fitou-o.
— Tuurngaq — disse, dando às criaturas o nome apropriado.
Mac anuiu, sabendo que era verdade.
Demónios.
11h40
Elena encolheu-se no chão de borracha do Zodiac. O barco recuara da margem e aguardava no meio do canal. De cada vez que Elena olhava por cima do ombro, o corpo estremecia com muito mais do que frio.
À distância, o antigo navio ardia. O fumo espesso obscurecia a sua visão à medida que as chamas dançavam mais alto na escuridão. Mais perto, cordões de fogo dourado fluíam dos destroços da embarcação e mergulhavam nas águas geladas do canal, onde se convertiam em jangadas flamejantes ao longo das margens, que depois flutuavam em direção ao Zodiac.
A mulher na proa berrou para o piloto. O homem acenou com a cabeça e pôs o barco em movimento. Não podiam arriscar que as chamas lhe tocassem. Mesmo naquele momento, o calor intenso derretia o gelo no teto do canal. Em vez de apagar as chamas, as águas glaciais que caíam como chuva pareciam atiçá-las.
Por aquela altura, o próprio glaciar Helheim começava a responder ao inferno à solta nas suas entranhas. Havia gelo a estalar e a soltar-se por toda a parte. Pressentindo que o canal poderia implodir a qualquer instante, o piloto aumentou a velocidade.
Quando o Zodiac estava prestes a alcançar uma curva no canal, Elena lançou um último olhar ao navio. Antes de o perder de vista, alguma coisa rompeu a cortina de fumo. Elena rezou para que fosse Mac, que por algum milagre tivesse sobrevivido. Porém, aquilo que surgiu na margem, arrastando consigo uma nuvem de fumo, era uma besta enorme, cujo corpo avermelhado brilhava com um fogo interior. Elena captou um vislumbre de uns cornos, mas a visão desapareceu mal o Zodiac completou a curva.
Virou-se outra vez para a frente e apertou os joelhos contra o peito.
Sentia-se prostrada, chocada com os horrores que testemunhara.
Momentos antes, enquanto os atacantes carregavam o mapa para o barco, ouvira Nelson gritar no interior do navio. Todos os olhares se viraram na direção do brilho sinistro que irradiava do porão. A líder do grupo apontara silenciosamente para o navio, e a equipa de assalto correra para a abertura no casco. Assim que entraram, ouviu-se uma série de tiros.
Ela limitara-se a tapar os ouvidos, imaginando Mac, Nelson e John.
Depois, seguiram-se os gritos.
As palmas das mãos nunca seriam capazes de bloquear o horror e o sangue que davam voz àqueles gritos. Um dos atacantes reapareceu, aos tropeções, até cair de joelhos no chão. Parecia que vestira uma armadura de bronze. A diferença era que as placas se moviam e rasgavam-lhe o fato de neopreno e a pele. O corpo arqueou violentamente, partindo a espinha e outros ossos, e depois explodiu numa ruína enegrecida de carne e chamas.
O guarda-costas da líder agarrou-a pelo ombro e conduziu-a para o barco, juntamente com os restantes membros do grupo. A mulher resistiu, de início, dando até um passo na direção do navio que começara a arder. Franziu o sobrolho, virou finalmente as costas e fez sinal para todos embarcarem no Zodiac.
A líder do grupo não queria arriscar perder o precioso tesouro, mesmo que o mapa não estivesse completo. À medida que o barco ganhava velocidade, os seus olhos negros cravaram-se em Elena. Sem dizer uma palavra, retirou o capuz de neopreno e abanou o volumoso cabelo preto como as asas de um corvo. Por trás daquele olhar duro e calculista, conseguia ver as engrenagens do cérebro a girar, nitidamente a decidir o que fazer com a sua prisioneira.
A mulher virou-se quando por fim o Zodiac abandonou o canal. Ventos fortes abateram-se sobre o barco. Ondas esbranquiçadas agitavam as águas do fiorde. O nevoeiro persistia, mas menos denso e com tendência a dispersar.
Havia uma tempestade a caminho.
Enquanto o Zodiac cortava pela crista das ondas, o que parecia ser o destino imediato materializou-se entre os fiapos de nevoeiro. Uma torre cónica negra emergiu do mar. O submarino continuou a rasgar a superfície até expor parte do convés. O piloto do Zodiac avançou e imobilizou o barco em cima daquele convés molhado.
A líder desembarcou e berrou meia dúzia de ordens. Dois homens carregaram a pesada caixa do mapa, e o gigante lançou a mão a Elena. Ela não queria ser tocada por aquele homem. Esquivou-se e saltou para o convés.
Com o grupo reunido no submarino, o piloto abandonou o Zodiac e empurrou-o para o mar. Ergueu a metralhadora e retalhou os flutuadores com uma rajada de tiros. O barco começou a afundar-se. No mesmo instante, Elena sentiu a vibração dos motores do submarino através das placas do convés. O grupo não ia perder tempo a abandonar a área.
Faltava, porém, uma última tarefa.
Ouviu uma explosão abafada e sentiu uma pequena onda de choque sob os pés. Um rasto de espuma cortou as águas. Um torpedo. Cerrou um punho junto à garganta e desviou o olhar para a face do glaciar Helheim. Logo a seguir, pedaços de gelo voaram pelo ar, a explosão forte o suficiente para ser sentida àquela distância. Uma enorme secção do glaciar cedeu e deslizou como uma guilhotina branca sobre a abertura do canal de degelo.
Ao atingir o mar, uma onda gigantesca avançou na direção do submarino.
— Para dentro! — ordenou a líder do grupo.
Elena considerou a hipótese de saltar para a água.
Pressentindo a hesitação, a mulher fitou-a.
— Há muita coisa que precisa de saber — disse. — Respostas que quer saber.
Elena cerrou os punhos, pronta para dizer à mulher para se ir lixar, mas visualizou o mapa, o mistério que representava. A mulher estava certa.
Quero saber as respostas.
Ainda com os punhos fechados, virou-se e encaminhou-se na direção da torre. Sentia-se impelida pela curiosidade intelectual, mas agora tinha um novo objetivo em mente. Recordou o sorriso de Mac, o brilho divertido no olhar de Nelson, a força estoica de John.
Hei de vingar a morte de cada um deles.
6
21 de junho, 12h15 WGST
Tasiilaq, Gronelândia
A Elena está viva...
Maria tentou retirar alguma esperança daquela notícia, mas o resto do relatório da polícia local era preocupante.
Encontrava-se sentada na acolhedora sala de refeições do Red House Hotel com uma caneca de café quente nas mãos. O espaço tinha meia dezena de mesas e cadeiras, uma pequena biblioteca e uma estante alta com uma variedade de botas para a neve, umas novas, outras antigas. Com as paredes exteriores de tábua vermelha e as enormes janelas com vista para o porto de King Oscar, o local seria com toda a certeza encantador se as circunstâncias fossem outras.
A sala de refeições estava apinhada de habitantes locais. Ao que parecia, a explosão do torpedo fora ouvida por toda a gente e a aldeia em peso queria saber o que se passava.
Todos os olhares se concentravam na única testemunha dos acontecimentos.
— O canal desapareceu — disse o agente Hans Jørgen, sentado a uma mesa numa das pontas da divisão. Vestia um casaco com forro de pelo por cima do uniforme de caqui. A ascendência dinamarquesa era facilmente identificável pelo sotaque e cabelo louro. — O torpedo arrancou a face inteira do glaciar. Houve uma enorme secção que ruiu.
— Consegue descrever o submarino? Tinha alguma característica especial? — perguntou o comandante Pullman. Depois de aterrar na Gronelândia, fora informado da presença de um submarino na região. O comandante insistira em acompanhar Maria e Joe no helicóptero que os transportara para a aldeia. A tripulação do Poseidon permanecera a bordo, a fim de garantir que o avião não sofreria danos causados pelos ventos ciclónicos que desciam as montanhas. — Reparou se havia algumas insígnias na torre? Letras? Números?
Jørgen abanou a cabeça.
— É como disse, só cheguei a tempo de ver a explosão. O meu barco-patrulha encontrava-se ainda a três quilómetros do local. Tive a sorte de vislumbrar o submarino com a ajuda dos binóculos. Mas depois submergiu e nunca mais o vi.
Maria apertou os dedos em torno da caneca.
— E tem a certeza de que viu a doutora Cargill ser levada para bordo do submarino?
O agente anuiu.
— A parca azul saltava à vista. O resto do grupo vestia fatos de mergulho pretos.
Elena virou-se para Pullman.
— Existe alguma maneira de seguirmos o rasto do submarino?
O comandante lançou um olhar acusador na direção de Joe, sentado com um charuto aceso entre os dentes.
— Não há muito que eu possa fazer aqui sentado. Mas a minha tripulação está a monitorizar as boias que lançámos. Felizmente, o nosso avião está equipado com a tecnologia mais recente. Estas boias conseguem gerar impulsos de sonar durante dias, com diferentes alcances e padrões. Sozinhas, as boias podem ser um bom ponto de partida, mas, se pudéssemos voar...
O comandante encolheu os ombros. Não precisava de constatar o óbvio.
Não é algo que vá acontecer tão depressa.
O curto voo de helicóptero assemelhara-se à experiência de voar no interior de uma misturadora de tinta. O vento tornara-se mais brutal a cada minuto. O piloto segurara os controlos com todas as forças, os lábios proferindo orações silenciosas. Quando aterraram, a transpiração deixara-lhe o cabelo colado à cabeça.
Não vamos a lado nenhum com esta tempestade.
— E os outros? — perguntou um dos locais. — Os três homens que acompanhavam a mulher?
— Aap! — disse alguém, reforçando a pergunta em inuíte.
Jørgen olhou fixamente para a plateia.
— Utoqqatserpunga — respondeu com pesar. — Não sei o que lhes aconteceu. Só vi a doutora Cargill.
Joe expeliu uma baforada de fumo.
— Ou estão mortos — disse sem rodeios — ou ficaram encurralados no canal.
Pullman debruçou-se sobre a mesa e baixou o tom de voz.
— Se estiverem vivos, talvez nos possam dizer o que aconteceu e quem raptou a doutora Cargill.
— Isso é um grande se — retorquiu Kowalski.
Jørgen anuiu.
— Vivos ou mortos, não conseguimos chegar até eles.
— Eu consigo! — disse alguém. Um rapaz magro, vestido com um casacão e botas de pele, avançou pela plateia. Não devia ter mais de catorze anos. O espesso cabelo preto estava cortado à tigela.
Jørgen virou-se para ele.
— Nuka, o canal ruiu. Não existe forma de lá podermos entrar.
— Existe, sim — insistiu o rapaz, confiante.
Jørgen preparava-se para o contrariar, mas Joe interveio:
— Como?
— Eu mostro-vos. — O rapaz apontou com o polegar na direção da porta, que abanava nas dobradiças com a força do vento.
— Esquece — avisou Jørgen. — Ninguém vai sair daqui com este tempo.
— Naa, eu vou. — Nuka virou costas e encaminhou-se para a saída. — É o meu avô que está lá fora.
Maria compreendeu finalmente a razão da teimosia do adolescente, do medo e da determinação que transparecia no seu rosto. O avô era o ancião inuíte John Okalik, o guia do grupo de Elena.
Kowalski levantou-se e apagou o charuto. Apagar um charuto a meio era coisa que só fazia em circunstâncias extraordinárias.
— Eu vou contigo, puto.
Maria virou-se para ele.
— Joe...
Kowalski ergueu a mão.
— Mal de mim, Maria, se ficasse aqui sentado sem fazer nada exceto ouvir o vento a tentar arrancar o telhado. — Fitou-a. — Se houver a mais pequena hipótese de estes tipos estarem vivos, até os desenterro com uma pá se for preciso. São os únicos que sabem o que aconteceu à tua amiga.
Maria agarrou-lhe o braço.
— Eu sei. Ia dizer que vou contigo.
Kowalski endireitou as costas.
— Calminha. Não foi isso que quis dizer. Talvez seja melhor se...
Maria levantou-se.
— Esquece. A tua justificação foi muito convincente.
Jørgen alternou o olhar entre os dois.
— Vocês são loucos.
— Já me chamaram pior. — Kowalski fez sinal a Nuka. — Mostra-nos o que sabes, puto.
Nuka encaminhou-se para a porta.
— Vamos a isso. Sei que o meu avô está vivo. Mas não continuará assim muito tempo se não nos despacharmos.
Kowalski deu-lhe uma palmadinha no ombro escanzelado.
— Espero que tenhas razão. Não tenciono congelar o meu belo traseiro para nada.
12h22
— Temos de arriscar.
Em pé, com a água gelada pela cintura, Mac estendeu o braço e destrancou a porta da cabina do comandante. Olhou para John, que acenou com a cabeça.
Se vamos morrer, que seja a lutar e não como ratos assustados.
Meia hora antes, uma violenta explosão fizera estremecer o glaciar. Mac pensara que ia acabar esmagado debaixo de toneladas de gelo. Em vez disso, à medida que o estrondo se desvanecia, dera consigo e com John vivos e de boa saúde. Logo a seguir, a cabina começara a ficar inundada. Um problema, bem entendido, porque sugeria que a água do canal de degelo não tinha mais por onde escapar.
Mac era capaz de adivinhar o que acontecera. Os atacantes tinham feito explodir a entrada do canal. Dito de outro modo, tinham batido com a porta ao saírem.
Em vez de se deixar afogar como um rato, Mac respirou fundo e abriu a porta da cabina. Não foi fácil devido à subida da água. Cerrou os dentes e ficou à espera de ser encurralado pela horda de caranguejos de bronze. Em vez disso, o feixe da lanterna revelou que metade da popa do navio desaparecera. O que restava do porão não passava de uma ruína iluminada por montículos de brasas incandescentes. Nas águas do canal, viam-se montículos idênticos a flutuar.
Através do fumo denso, mãos-cheias de caranguejos brilhavam, incandescentes, na escuridão. Amontoavam-se nos destroços do navio e em cima de blocos de gelo. Um par até acabara em cima de um cadáver que flutuava no canal. Dava a ideia de que a maioria não se mexia, as chamas esmorecidas. Um punhado arrastava-se com movimentos débeis. A substância que alimentava as criaturas parecia estar a perder o efeito.
Mac sabia que havia muitos mais, mas não os encontrou em parte alguma. Talvez se tivessem afogado na súbita inundação. À cautela, avançou lentamente pelo que restava do porão, mantendo uma distância segura dos caranguejos que restavam.
John tocou-lhe no ombro e apontou para uma secção do casco que se partira. Depois, apontou para cima. Mac acenou com a cabeça.
Temos de sair destas águas.
Ambos vestiam fatos de neopreno por baixo das parcas e calças, mas isso não impedia que o frio penetrasse até aos ossos. Mac cerrou os maxilares para evitar que os dentes batessem descontroladamente. Sentia os pés e as pernas dormentes, o que dificultava cada passo dado sobre o chão irregular do porão que as águas negras escondiam.
Alcançaram por fim a abertura no casco e treparam pelas vigas partidas do navio, evitando as poucas que ardiam. Uma vez lá em cima, perceberam que a metade dianteira do convés continuava intacta, com a proa do navio ainda presa no gelo.
Mac aproveitou para olhar em volta. No mesmo instante, uma placa de gelo soltou-se do teto do canal e despenhou-se na água. Uma enorme onda embateu contra o casco, deslocando os montículos de brasas e revelando mais alguns cadáveres.
Tentou não pensar em Nelson. Não era o momento para chorar a morte do amigo. A queda do gelo era um lembrete de que podia juntar-se a ele a qualquer instante.
Durante o tempo em que estivera escondido na cabina, as réplicas do primeiro abalo tinham sido quase constantes. Conseguira sentir o peso maciço do glaciar a exercer pressão sobre aquela delicada bolsa. Conhecia bem a realidade. Depois de uma década a trabalhar ali, o gelo deixara de ter segredos e era capaz de o ler como um livro aberto.
O canal não vai aguentar. Vai ruir a qualquer momento.
Bem vistas as coisas, talvez não fizesse diferença nenhuma. Outrora um rio que fluía para o mar, o canal convertera-se num lago. Sem ter por onde escapar, a água continuava a subir. A subida do nível da água não era a sua única preocupação, visto que também concentrava o fumo numa bolsa de ar cada vez mais pequena, tornando a respiração mais difícil.
John tossiu.
Não devia tê-lo feito.
Um rugido furioso ergueu-se da nuvem de fumo a estibordo. Com o coração a bater na garganta, Mac debruçou-se sobre a amurada do convés. Sabia que os caranguejos não haviam sido as únicas criaturas que vira emergir das vasilhas de barro.
Olhou para baixo. Enormes secções do teto tinham colapsado, acumulando-se ao longo da margem como secções inacabadas de um quebra-mar de gelo e rocha entre o navio e a água que inundava a caverna.
Movia-se qualquer coisa naquele labirinto.
Chamas assinalavam o progresso da criatura através do fumo, que volta e meia permitia um vislumbre da sua forma imensa. Atraída pela tosse de John, a criatura continuou a avançar na direção do navio, acabando por desaparecer no manto de fumo mais denso em redor do casco.
Mac susteve a respiração, com medo de que isso fosse suficiente para o denunciar. Esforçou-se para localizar a posição exata da criatura.
Onde é...
Uma violenta pancada no casco fez estremecer o navio. Mac caiu sobre um joelho. John manteve-se de pé, com a caçadeira firme nas mãos e o cano duplo apontado à escuridão lá em baixo.
A criatura rugiu outra vez, cuspindo chamas das mandíbulas abertas, exibindo os dentes serrilhados. Dois cornos de bronze coroavam a cabeça monstruosa. Enquanto rugia, ergueu-se nas patas traseiras e rasgou selvaticamente o ar com as patas dianteiras, cujas partes posteriores exibiam uma série de lâminas curvas.
Apoiando-se novamente nas quatro patas, voltou a desaparecer no fumo.
Mac ficou a ouvir os passos daquela máquina assassina — metade touro, metade urso — a deslocar-se para trás e para a frente ao longo do casco.
Outra secção de gelo desprendeu-se do teto e caiu na água com estrondo. Mac lançou um olhar assustado a John.
Não podemos ficar aqui.
Se aquela coisa não os matasse, o frio, a água ou o gelo encarregar-se-iam de o fazer. Precisavam de encontrar uma saída, uma forma de passarem pela monstruosa criatura.
Mas como?
12h55
— Nem pensar! — gritou Kowalski, para se fazer ouvir por cima da fúria ensurdecedora dos ventos ciclónicos.
A equipa de resgate acotovelava-se ao longo da pouca proteção oferecida pelas três motos de neve. Partilhavam o espaço com a matilha de cães de Nuka, meia dezena de huskies com pelagens fartas. Os cães tinham-se aninhado em pequenas depressões no gelo cavadas por eles, e assim permaneciam, expelindo nuvens de vapor pela boca e indiferentes ao frio.
Nuka utilizara a matilha para guiar as motos de neve através do glaciar. O rapaz explicara a sua escolha: «Os cães conhecem o caminho mais seguro. É muito fácil cairmos numa fenda escondida. Aprendemos a confiar nos olhos e nos narizes deles, para que isso não aconteça.»
Em Tasiilaq, o grupo enfiara-se numa Ram 2500, uma potente pick-up equipada com pneus monstruosos que os levara ao longo de uma traiçoeira estrada de gravilha até ao cimo do glaciar Helheim. A tempestade não dera tréguas, fustigando a carrinha com rajadas que a qualquer momento a poderiam ter virado. Uma vez lá em cima, estacionaram junto a um punhado de cabanas azuis e a uma dezena de motos de neve que ali se encontravam. Ao que parecia, a família de Nuka dedicava-se ao turismo, vendendo passeios no glaciar.
Maria perguntara ao rapaz onde estavam os pais. Nuka respondera-lhe que ambos eram membros da equipa de busca e salvamento de Tasiilaq. Naquele momento, encontravam-se a responder a uma emergência no interior, o que por sua vez também arrancara da aldeia a maioria dos elementos mais experientes da unidade.
Kowalski olhou para o que restava.
O refugo, pelos vistos.
Apesar da sua reserva inicial, Jørgen juntara-se ao grupo e com ele um par de nativos, dois homens mais velhos e atarracados que diziam ser familiares de John, o que provavelmente era válido para todas as alminhas na aldeia. Os dois prendiam a ponta de uma corda de escalada à parte de trás de uma das motos de neve. Nuka ajeitou o resto da corda enrolada à volta do ombro. Apontou para lá das lagartas de borracha da moto de neve.
— Este é o único caminho para o coração do glaciar. Descendo este poço.
— Nem pensar! — repetiu Kowalski.
Espreitou novamente por cima da proteção oferecida pelos veículos. O vento quase lhe arrancou os óculos de neve. Nuka emprestara-lhe os óculos, juntamente com um capacete e uma parca demasiado pequena para ele, escusado será dizer, visto que as mangas mal cobriam os pulsos.
Dez metros à frente, um riacho azul sulcava a superfície alva do glaciar. O fio de água descia daquele ponto mais elevado e desaparecia por um poço com cerca de três metros de diâmetro, cujas paredes em espiral se estendiam até às profundezas do glaciar.
Kowalski abanou a cabeça.
Poço, diz ele. Um remoinho semicongelado, é o que é.
— Vais descer isto pendurado numa corda? É esse o teu plano?
Nuka vestira um fato de mergulho que lhe cobria o corpo todo, colocara até uma máscara no rosto.
— Não é a primeira vez que faço uma coisa destas.
Maria aproximou-se.
— Como é que sabes que este poço vai dar ao canal de degelo?
— O doutor MacNab disse-me. Quando não estou a servir de guia para os turistas, por vezes ajudo-o a cartografar os rios e canais aqui em cima. É um trabalho sem fim, claro, com tudo isto a derreter-se e a mover-se ao mesmo tempo.
Kowalski endireitou-se.
— Bom, se estás assim tão certo de que este é o caminho, é melhor ir contigo.
Nuka franziu o nariz.
— És demasiado gordo.
Kowalski olhou para a barriga, ofendido e chocado com o atrevimento de Nuka. Dir-se-ia que começava a gostar do rapaz.
— Isto é tudo músculo, puto.
— A sério? — Nuka apontou para os pulsos expostos de Kowalski. — Mesmo que conseguisses passar pelas passagens mais estreitas, o meu fato suplente não te serve.
— E eu? — disse Maria, pondo-se ao lado do rapaz. — Temos quase a mesma altura.
Nuka tirou-lhe as medidas com o olhar e encolheu os ombros.
— Sim, pode ser.
— O tanas é que pode! — disse Kowalski, colocando-se de pé entre os dois.
Maria ignorou-o.
— Vai buscar o outro fato — ordenou ao rapaz. Virou-se para Kowalski. — A minha irmã e eu explorámos cavernas durante anos, sempre fez parte do nosso trabalho. Sou perfeitamente capaz de fazer isto.
Kowalski apontou para o poço.
— Aquilo parece-te rocha sólida, por acaso?
— Joe, não vou deixar o miúdo descer sozinho.
Kowalski compreendia a preocupação de Maria, mas não gostava nem um pouco da ideia de a ver descer por aquele buraco.
Nuka regressou com o fato suplente. Maria pegou no fato e observou os outros membros do grupo.
— Mais nenhum de vocês cabe aqui dentro, por isso...
Reconhecendo que travava uma batalha perdida, Kowalski estendeu a mão.
— Está bem. Deixa-me ajudar-te a vestir essa porcaria.
Maria saltitou no gelo enquanto despia a parca e vestia o fato estanque de alta densidade. Puxou o cabelo para trás e colocou o capuz.
— Que tal? — perguntou, virando-se para Nuka, que se agachara contra o vento e desenrolava a corda na borda do poço, deixando que a corrente conduzisse a ponta até ao fundo. — A quem é que fica melhor? Podes ser sincero.
Kowalski abraçou-a.
— Se queres mesmo saber, parecem duas focas encalhadas.
Maria tremia, e Kowalski sabia que não era apenas por causa do frio. Pela enésima vez, interrogou-se como é que uma mulher daquelas olhara duas vezes para ele, quanto mais dedicar-lhe dois anos da sua vida.
— Se não me largares, dificilmente vou conseguir salvar alguém.
Kowalski soltou-a e pousou-lhe as mãos nos ombros.
— Não te armes em heroína.
Maria sorriu.
— Se tivesse trazido a capa, ficava igualzinha à Mulher-Maravilha.
— Para mim, serás sempre a Mulher-Maravilha.
— Oh, és tão queri...
— Sobretudo na cama.
— Pronto, tinhas de estragar tudo. — Maria afastou-se. — Toma conta do forte. Vou comunicando os nossos progressos pelo rádio.
Kowalski ficou a observá-la enquanto ela se afastava na direção de Nuka, ainda a habituar-se aos crampons nas botas que ajudariam na descida. Ao chegar à borda do poço, Maria olhou para trás.
Os dois eram fluentes em linguagem gestual e, sabendo que Maria não o ouviria por causa do vento, Kowalski ergueu a mão com o polegar e o dedo mindinho estendidos, e depois apontou para ela.
[Amo-te]
Maria virou-se sem dar resposta, pelo que Kowalski calculou que ela nem se apercebera. Nuka estendia já a segunda corda. Enganchou-a no sistema de segurança do arnês de Maria e verificou o equipamento e os nós. Satisfeito, começou a descer, mantendo as pernas fletidas e as botas com os crampons em contacto com a parede.
Maria iniciou também a descida, desaparecendo depois dele.
Kowalski fitou o poço gelado. Esperava que aquilo não se revelasse uma perda de tempo e um risco desnecessário. Queria que os outros estivessem bem e pudessem ser resgatados, mas havia um desejo que se sobrepunha.
Só quero que voltes para mim.
7
21 de junho, 13h18 WGST
Glaciar Helheim, Gronelândia
O pé de Maria fugiu-lhe na parede escorregadia do poço, mas os dispositivos de segurança no arnês e na corda travaram de imediato a queda. Balançou com violência de um lado para o outro até bater com a anca contra o gelo.
— Tudo bem? — perguntou Nuka cinco metros mais abaixo, as palavras abafadas pela máscara.
Maria cravou novamente os pés no gelo.
— Tudo bem — respondeu, com mais confiança do que sentia.
Começava a perceber que provavelmente sobrestimara as suas aptidões. Não descia uma parede vertical há anos e aquilo não era como andar de bicicleta. Perdera o jeito ou então o problema tinha mais que ver com a natureza invulgar daquela descida. Continuou a fazer o possível por evitar a água que descia em espiral à sua volta, mas a máscara estava sempre molhada, o que só atrapalhava. Além disso, o maldito gelo era duro como pedra mas escorregadio como óleo. Parecia-lhe mais que estava numa pista de patinagem do que a fazer uma descida em rappel.
— O ângulo é menor a partir daqui — disse Nuka. — Talvez ajude.
Maria limpou o visor da máscara e olhou para baixo. A primeira secção da descida tinha sido quase na vertical, mas a lanterna na máscara de Nuka sugeria que o poço começava a inclinar uns trinta graus para um dos lados.
Graças a Deus...
Desceu rapidamente até alcançar essa secção e juntar-se a Nuka. A partir dali a largura do túnel diminuía para metade, mas podiam continuar, desde que se mantivessem um atrás do outro.
Mas por quanto tempo? E quem nos garante que o comprimento das cordas é suficiente?
Ambos levavam machados de gelo nas mochilas, mas Maria não tinha nenhum desejo de tentar uma descida sem corda.
À medida que prosseguiam, a inclinação tornou-se menor, mas a água também se acumulava mais debaixo dos pés, obrigando-os a abrir as pernas o mais possível e a cravar os crampons onde a torrente era menos forte.
Alguns metros mais à frente, Nuka parou, levantou a máscara e cheirou o ar.
— Isto é fumo?
Fumo?
Maria parou e fez o mesmo. O frio congelara-lhe os pelos nas narinas, mas detetou um ténue cheiro a queimado. Sabia que só podia haver uma fonte de material combustível nas entranhas do glaciar. Imaginou o antigo navio.
Será que os raptores de Elena o tinham incendiado?
Não tinha forma de saber, mas o cheiro a queimado sugeria que deviam estar perto do objetivo. Fez sinal a Nuka.
— Continua.
— Hum, acho que temos um problema. — Nuka estendeu o braço e puxou a ponta da corda mergulhada na água gelada. Mostrou-a a Maria. — Não temos mais corda.
Maria aproximou-se dele.
— E agora? — perguntou, mas sabia a resposta.
O rapaz começou a soltar a corda do seu arnês.
— É como disseste, estamos perto. — Assim que se soltou da corda, pegou num machado de gelo. — A inclinação não é muita. Com cuidado, acho que consigo descer o resto sem corda.
— Talvez, mas só se descer contigo.
Apesar do receio inicial, Maria sentia-se capaz de continuar mais uns metros. Se o túnel se revelasse demasiado traiçoeiro, podiam usar os machados e os crampons para voltar atrás.
— Ajuda-me a tirar a corda.
O rapaz fez-lhe a vontade e fitou-a. Com a máscara levantada, Maria conseguia perceber o medo e o alívio nos seus olhos brilhantes.
— Obrigado — disse ele.
— Deixa-te disso. Começa a descer, antes que mude de ideias.
Nuka assim fez, mostrando a Maria a técnica apropriada para a descida. Mantendo as pernas afastadas, cada passo era dado com cuidado, certificando-se de que cravava bem os crampons no gelo. Segurava o machado com as duas mãos, pronto a utilizá-lo, caso escorregasse.
Maria seguiu-o, imitando cada gesto.
O processo era penosamente lento, mas pelo menos avançavam. Em cada metro, a transpiração acumulava-se no interior do fato de Maria devido ao esforço e à concentração.
— Acho que vejo um clarão lá à frente — disse Nuka.
Maria endireitou-se e tentou espreitar por cima do ombro do rapaz. Um dos pés fugiu-lhe, caiu de costas e foi levada pela torrente. Chocou com Nuka e derrubou-o também.
Com os corpos entrelaçados, nenhum dos dois conseguiu usar os machados.
Cada vez mais depressa, continuaram a ser arrastados até alcançarem uma cascata onde foram dolorosamente cuspidos para uma câmara maior. Ali, onde o espaço era mais amplo, a torrente tinha menos força e dividia-se uns metros mais à frente para contornar um bloco de gelo de arestas irregulares.
Nuka agarrou Maria pela cintura, rolou para o lado esquerdo para evitar o bloco e aproveitou o balanço para escapar à torrente e alcançar uma secção de rocha.
Maria cravou os dedos na firmeza da margem.
Pedra...
Significava que deviam ter alcançado o fundo do glaciar. Sentou-se, ainda a recuperar o fôlego. No outro lado do enorme espaço cavernoso, o casco enegrecido de um navio ardia na escuridão.
Conseguimos.
O alívio, porém, durou pouco.
Um grito ergueu-se do navio, carregado de pânico.
— FUJAM! SAIAM DAÍ! RÁPIDO!
13h33
Momentos antes, Mac julgara que estava a alucinar. Parecia-lhe ter visto luzes fantasmagóricas na parte superior da cascata. Logo a seguir, ouvira o eco de vozes. Ora, os inuítes acreditavam que alguns glaciares estavam assombrados e, depois de ter descoberto que os tuurngaq — os seus demónios — eram bem reais, não podia ignorar a possibilidade de também existirem fantasmas.
Foi então que viu aquelas duas figuras — que não eram menos reais do que ele — a deslizarem pela cascata e a aterrarem no canal. Do convés do navio, observou o par a arrastar-se da água para a margem.
Infelizmente, não foi o único a testemunhar a chegada destes visitantes.
Lá em baixo, o monstro mecânico rondava o navio. Quando as duas figuras surgiram na caverna, rodou a cabeça de bronze, expelindo chamas pelas narinas. No segundo seguinte, as pesadas pernas corriam já na direção da cascata.
Mac fez o possível para os avisar, mas de nada adiantou.
Uma voz gritou-lhe de volta.
— Doutor MacNab? Mac?
Mac reconheceu a voz adolescente de Nuka. Virou-se para John, que endireitou as costas, reconhecendo igualmente a voz do neto.
Mac levou as mãos à boca e gritou:
— Nuka! Há uma criatura perigosa aí em baixo! É atraída pelo som e talvez pela luz! Apaguem as lanternas! Fiquem em silêncio!
De modo a desviar a atenção da besta mecânica, começou a bater com os pés no convés. A criatura reagiu e abrandou.
Mas Nuka gritou de novo.
— Temos cordas! E uma maneira de sairmos daqui!
Mac cerrou os dentes.
O que se passa com estes miúdos de hoje em dia? Não sabem ficar calados?
A criatura correu outra vez na direção da cascata. Mac bateu outra vez com os pés, com mais força, mas de nada serviu. Talvez a besta fosse inteligente o suficiente para perceber que havia ali alvos mais fáceis.
Mac precisava de um novo plano. Infelizmente, o único que arranjou era pouco sensato.
— Nuka! — gritou. — Não abras mais a boca! Recua para o túnel! Nós vamos ter contigo!
Virou-se para John.
— Acho que está na altura de pegarmos o touro pelos cornos.
13h35
Com as costas curvadas e a segurar o machado de gelo com as duas mãos, Maria recuou ao longo do canal. A água a correr tornava difícil ouvir outro ruído além daquele. Os olhos perscrutaram a margem escura, um autêntico labirinto de gelo e rocha.
Nuka seguia-a de perto.
O que podia estar ali em baixo? Um urso-polar?
A aflição na voz de Mac dizia-lhe que tinha de ser algo pior do que um urso.
Mas o quê, ao certo?
Alcançaram por fim o início do poço que conduzia à superfície. Quando Maria se agachou para entrar, ouviu-se um tiro junto ao navio.
Maria e Nuka deram um salto.
Mais perto, a não mais de dez metros, a escuridão iluminou-se. Por um instante, Maria ainda captou um vislumbre de uma figura monstruosa, de aspeto metálico, mas um bloco de gelo obstruía a maior parte da sua linha de visão. A medonha criatura recuou e encaminhou-se novamente na direção do navio, deixando um rasto de chamas atrás de si.
Nuka virou-se para ela, chocado com o que acabara de ver.
Fosse lá o que fosse, aquilo estivera perto de os apanhar.
Ouviu-se outro tiro.
Maria rezou para que os outros soubessem o que estavam a fazer.
Para o bem de todos nós.
13h37
De volta ao porão do navio e outra vez com água gelada pela cintura, Mac fitou a escuridão enquanto John recarregava a arma. Estavam escondidos atrás do que restava das vasilhas de barro. Mac concentrou a atenção na popa em ruínas, atento a qualquer sinal da criatura.
Onde andas, maldito?
Sem ter sido capaz de atrair o touro com o bater dos pés, Mac percebera que estava na altura de recorrer a medidas mais extremas. Calculava que o primeiro tiro não tivesse sido ignorado, mas dera consigo a reter a respiração, com medo de que o plano não resultasse. Foi então que ouvira a criatura a correr de volta para o navio. Fizera sinal a John e o outro disparara outra vez contra o teto.
Naquele espaço confinado, os dois tiros tinham-lhe deixado os ouvidos a zunir. Mas seria o suficiente para atrair o monstro? Virou-se para John, pronto para lhe pedir que premisse novamente o gatilho. No mesmo instante, um rugido desviou-lhe a atenção para a popa.
O touro metálico entrou no porão, deixando um rasto impossível de chamas na superfície da água. As placas de bronze sobrepostas moviam-se nos ombros à medida que avançava devagar e com a cabeça baixa, os cornos apontados em frente. Chamas escapavam das narinas largas. A boca aberta revelava filas e filas de dentes pontiagudos, afiados como lâminas.
Meu Deus...
Mac sentiu o sangue gelar nas veias. Mesmo escondido, sentia-se exposto e à mercê da criatura. Queria recuar, encolher-se o mais possível, mas o medo deixara-o petrificado.
John apercebeu-se do seu pânico e assobiou-lhe.
O touro carregou em direção ao amigo, atraído pelo som.
Oh, não...
Mac conseguiu reagir e, seguindo o plano à risca, acendeu a lanterna e atirou-a na direção da porta aberta da cabina do comandante. A lanterna rodopiou no ar, atingiu a parede mais afastada da pequena divisão e caiu em cima da secretária.
A criatura cuspiu um jato de chamas e investiu na direção da cabina, quer atraída pelo som quer porque afinal conseguia ver. A verdade era que tinha dois olhos negros, iluminados por um fogo interior, mas podiam ser apenas decorativos.
Fosse como fosse, o touro baixou os cornos e avançou pela água como um torpedo, deixando atrás de si um rasto de chamas e um fedor a óleo queimado. Irrompeu pela cabina e desfez a secretária em mil pedaços. Depois, arremessou os cornos contra a curvatura da proa. O impacto foi violento o suficiente para fazer estremecer todo o barco.
Mac e John estavam já em movimento. John deslocou-se para o centro do porão; Mac correu na direção da cabina. Uma vez em posição, John disparou dois tiros contra as costas do touro. As munições sólidas acertaram em cheio no dorso metálico, mas apenas deixaram duas marcas nas placas.
Apesar disso, os dois impactos distraíram a criatura tempo suficiente para Mac ter uma oportunidade de alcançar a porta, que fechou com um golpe de ombro. John juntou-se a ele e pegou na tranca de bronze que ali tinham deixado encostada. Juntos, entalaram a tranca entre a porta e as pranchas do chão.
Atrás da porta, o touro rugiu e debateu-se, mas a pequena divisão mal lhe dava espaço de manobra, menos ainda aquele que seria necessário para ganhar balanço e escapar dali à força.
Ou assim esperavam, pelo menos.
— Vamos! — gritou Mac.
Os dois atravessaram novamente o porão e abandonaram o navio. Correram pela margem e através do labirinto de rocha e gelo. Mal se afastaram dos últimos focos de chamas, depressa deixaram de ver um palmo à frente do nariz.
— Nuka! — berrou Mac. — Acende as lanternas!
Luzes brilharam à distância.
Nas costas de ambos, ouviu-se um violento estrondo de madeira a partir. Mac olhou por cima do ombro e viu o touro irromper pelo casco, furioso, envolto em chamas. Aterrou na margem, desgovernado e a arrancar faíscas da rocha, ganhou tração e disparou na direção de ambos.
— Corre! — gritou Mac para o companheiro.
Os dois correram para a cascata e apressaram-se a trepar as rochas húmidas em direção ao túnel iluminado. Mac avistou duas figuras acocoradas uns metros a seguir à entrada.
— Não fiquem aí parados! Continuem! — gritou.
O touro depressa alcançou a cascata, despedaçando o gelo e atirando pedregulhos pelo ar na ânsia de atingir as suas presas.
Mac empurrou John para dentro do túnel e apressou-se a entrar também.
Nuka voltou atrás e entregou-lhe um machado de gelo.
— É espetar e andar! — disse.
Percebido.
John avançou pelo túnel escorregadio com uma habilidade que lhe era inata. Mac seguiu atrás dele, cravando o machado e arrastando-se o melhor que podia. Cada metro era uma luta. A distância em relação aos companheiros aumentava a olhos vistos.
Não vou conseguir.
Tinha razão.
O touro arremessou-se em peso contra a passagem. Com metade do corpo dentro do túnel e metade fora, rugiu para Mac, cuspindo labaredas. As mandíbulas rasgavam o ar, tentando apanhar-lhe os pés.
Em pânico, Mac deixou o machado escorregar. Caiu de barriga e começou a deslizar em direção ao touro.
— Baixa-te! — gritou Nuka.
Ouviram-se dois tiros ensurdecedores e Mac sentiu os projéteis passarem rente à sua cabeça. Os chumbos atingiram o touro no meio dos cornos e empurraram-no para trás, oferecendo a Mac os segundos preciosos para cravar novamente o machado e retomar a subida.
Apressou-se pelo túnel acima, sabendo que o touro haveria de voltar à carga. Os rugidos nas suas costas garantiam-lhe que a besta não desistira.
Uma mulher gritou-lhe:
— Rápido! Estamos quase a alcançar as cordas!
Mac não sabia quem era aquela mulher, mas obedeceu-lhe e acelerou o passo. Quando alcançou o grupo, Nuka e a mulher desconhecida já tinham prendido as cordas aos arneses que traziam postos.
Nuka apontou para a parte de trás dos dois arneses.
— Agarrem-se bem.
John agarrou-se ao arnês da mulher; Mac ao de Nuka.
— Agarrem-se — repetiu a mulher. — Os próximos segundos vão ser agitados.
13h42
Maria encostou os lábios ao radiotransmissor.
— Agora! O mais rápido possível!
Olhou para cima e segurou-se à corda com as duas mãos. O único aviso foi uma pequena vibração. Houve um esticão súbito nas cordas e os quatro foram puxados como bonecos ao longo do poço escorregadio.
Momentos antes, enquanto aguardava no túnel, Maria avisara os companheiros na superfície de que precisava de ajuda. Sabia que as cordas tinham sido amarradas ao gancho de reboque de uma moto de neve. Assim sendo, não havia razão para escalar o poço sozinha se podia ser içada.
Um rugido furioso ecoou novamente pelo túnel.
Maria olhou para trás. A medonha criatura não se dera por vencida e continuava a tentar persegui-los.
— Vai-te lixar! — gritou MacNab.
Maria suspirou de alívio, mas os problemas não tinham terminado. Rachas enormes corriam ao longo das paredes do túnel. Se a derrocada iminente resultava das investidas da criatura ou dos tiros da caçadeira, a verdade é que o ponto de rutura fora finalmente atingido. A secção inferior implodiu de uma assentada.
Os rugidos pararam.
A onda de destruição propagou-se pelo túnel. Maria rezou para que os companheiros na superfície espremessem cada cavalo de potência da moto de neve.
Numa questão de segundos, o grupo alcançou a secção vertical do poço. O esticão das cordas atirou os quatro contra a parede. Na violência do impacto, John deixou escapar umas das mãos do arnês de Maria e ficou pendurado por um braço, enquanto agitava freneticamente o outro. Presa pelo arnês, Maria largou a corda e agarrou o ancião inuíte pela gola do casacão de pelo.
Segurou-o com todas as forças durante os últimos metros, até que uns braços de ferro a agarraram pela cintura e a puxaram para fora do poço, juntamente com o avô de Nuka.
Largou o ancião e ficou deitada de costas no chão, a recuperar o fôlego.
Joe debruçou-se sobre ela, com o rosto fustigado pelo vento.
— O que é que eu disse acerca de não te armares em heroína?
Maria encolheu os ombros.
— Acho que fui apenas uma personagem secundária neste filme.
Joe ajudou-a a sentar-se. Os outros também já se encontravam fora do poço. Maria fitou o climatologista de barba ruiva.
— Pode explicar-me o que acabou de acontecer?
— Posso. Mas vou precisar de uma cerveja. Muitas cervejas.
Joe acenou com a cabeça.
— É a melhor ideia que ouvi até agora.
Maria ergueu a mão. Havia coisas que não podiam esperar.
— A Elena? Sabe quem a levou?
— A doutora Cargill? Ela está viva?
— Tanto quanto sabemos. Conto-lhe os pormenores enquanto bebemos essas cervejas. Mas sabe dizer alguma coisa sobre quem a levou ou o que queriam?
— Não faço ideia de quem eram. Sei que falavam árabe.
Árabe?
— Quanto ao que queriam, não tenho a certeza. Sei que queriam o mapa dourado que encontrámos no navio. Chamaram-lhe Atlas da Tempestade, como se já o conhecessem.
Maria franziu o sobrolho.
Atlas da Tempestade?
— Ah! — Mac enfiou a mão no bolso, de onde retirou uma esfera prateada do tamanho de uma bola de softball, cuja superfície exibia uma série de inscrições e elaborados componentes mecânicos. — E também queriam isto.
SEGUNDA PARTE
A CHAVE DE DÉDALO
Quod est ante pedes nemo spectat, caeli scrutantur plagas.
Ninguém olha para o que tem diante dos pés;
todos olham para as estrelas.
— IFIGÉNIA, UMA TRAGÉDIA DE QUINTO ÉNIO (239-169 A.C.)
8
22 de junho, 08h59 EDT
Takoma Park, Maryland
O comandante Gray Pierce sobrevivera a um sem-número de encontros com a morte, mas nada o preparara para a paternidade, sobretudo quando se via obrigado a partilhar essa responsabilidade com uma mãe tigre.
— Esquece. Não vai acontecer — avisou, sentado no sofá da sala.
— Ele consegue.
Seichan estava sentada de pernas cruzadas no tapete persa, como se fosse uma rainha eurasiática. Afastara a mesa de apoio e segurava o bebé pelos braços, fazendo o possível para que a criança se aguentasse nas pernas, que mais pareciam feitas de gelatina. Jackson Randall Pierce não parecia interessado em cooperar. Em vez disso, balbuciava e tentava tocar nos dedos dos pés.
Gray bateu com indicador no livro pousado na mesa de apoio.
— Diz aqui que só começam a andar a partir dos nove meses, um ano ou até mais do que isso.
— Isso é apenas uma estimativa. — Seichan apontou com o queixo na direção da pilha de folhas soltas que se encontravam em cima da mesa. — O que não falta aí são exemplos de bebés que começaram a andar aos seis meses. Não é habitual, mas não é impossível.
— O Jack tem cinco. Aliás, faltam dois dias para fazer cinco meses.
— E daí? Senta-se sozinho e até gatinha um bocadinho. Não era suposto fazer nada disso. Além do mais, graças a mim, também dorme a noite inteira de há dois meses para cá. Também dizias que isso não era possível.
— Não é verdade. Se bem me lembro, o que disse foi por favor, meu Deus, será que este miúdo nunca dorme?
— Pois, mas consegui que ele dormisse.
Gray interrogou-se se não seria melhor cortar o acesso à Internet. Seichan passava demasiado tempo ao computador a pesquisar tudo o que podia sobre bebés. Parecia encarar a maternidade com o rigor e a disciplina de um desporto de combate. Estava apostada em conseguir que Jack concluísse todas as etapas de desenvolvimento antes do tempo previsto, o que constituiria uma prova inequívoca de que era a melhor mãe do mundo.
E esta era uma mulher que duvidava dos seus instintos maternais.
Claro que Gray não podia esquecer que Seichan era anteriormente uma assassina, que fora brutalmente treinada para ser uma máquina de matar, e compreendia estes comportamentos mais peculiares. Além disso, tinha preocupações suficientes em relação à sua própria capacidade como pai. Fosse como fosse, a obsessão de Seichan — que até o divertira, de início — começava agora a preocupá-lo. Depois de Jack nascer, os dois tinham tirado uma licença parental prolongada. Gray dispunha de mais um mês até regressar ao trabalho na Sigma, o que só aconteceria depois da festa dos seis meses de Jack, o que pelos vistos era uma coisa que as pessoas faziam, festejar os seis meses de um bebé.
Gray deslizou do sofá para o chão e sentou-se ao lado de Seichan. Pegou no pequeno Jack e cheirou-lhe a fralda. O cheiro disse-lhe que estava na altura de terminar a lição, mas a mudança da fralda podia esperar mais um minuto. Sentou Jack ao colo e aproximou-se mais de Seichan. Recostaram-se contra a cadeira atrás de ambos. Jack tentou libertar-se dos seus braços, Gray deu-lhe um beijo no tufo de cabelo preto, o que teve o condão de o sossegar por uns segundos.
Seichan estendeu as pernas e encostou-se a ele. Gray colocou o braço livre por cima do seu ombro e ela pousou a cabeça no seu peito. Seichan vestia umas calças de licra pretas e um top a condizer. Os longos cabelos estavam presos num rabo de cavalo que descia até meio das costas. Gray sentiu o aroma da pele dela. Horas antes, Seichan estivera com Kat numa aula de ioga. Não se podia dizer que ela precisasse de exercício. Determinada como era, perdera a gordura da gravidez em seis semanas, o que lhe devolvera a figura elegante e musculada de sempre.
Gray desviou o olhar para a própria barriga. Acumulara umas banhas nos últimos meses.
Devias ter seguido o exemplo dela.
Tendo em conta a falta de sono e os horários imprevisíveis a que Jack o sujeitara, não valia a pena repreender-se. Monk, o marido de Kat, desafiara-o várias vezes para uma partida de basquetebol ou para uma ida ao ginásio, mas Gray recusara os convites, preferindo aproveitar aquele período de vida doméstica. Além disso, a ideia de deixar Seichan sozinha com o bebé fazia-o sentir-se culpado. Queria fazer a sua parte o melhor que pudesse.
Se calhar, não é só a Seichan que quer provar alguma coisa.
Nos últimos seis meses, Kat e Monk tinham-se tornado presenças habituais, juntamente com as duas endiabradas filhas, Harriet e Penny. Embora nunca lho tivessem dito, Gray suspeitava que as visitas frequentes dos amigos eram uma forma de garantir que ele e Seichan não se sentiam demasiado isolados, como acontecia muitas vezes com pais de primeira viagem, cuja vida passava a girar exclusivamente em torno do bebé e não deixava tempo para mais nada. Talvez Monk e Kat estivessem também a demonstrar que era possível equilibrar a vida de casal, os filhos e o trabalho. Os dois certamente não se coibiam de os pôr ao corrente das novidades na Sigma. Parecia até que tentavam incentivá-los a regressar mais cedo ao trabalho.
O telefone satélite que Gray deixara em cima da mesa tocou.
Gray suspirou, sem vontade nenhuma de atender a chamada. Jack, que estava quase a adormecer no seu colo, despertou com o som e começou a choramingar. Entregou-o a Seichan.
— Precisa de mudar a fralda.
— Lamento. Até seres capaz de o amamentar, não estás dispensado do serviço às fraldas.
Gray sorriu e esticou-se para atender o telefone.
— Está bem, como queiras. Deve ser outra vez o Monk a desafiar-me para um jogo de basquetebol no parque.
— Se for ele, acho que devias aceitar o convite. — Seichan fitou a barriga dele. — A sério.
Gray revirou os olhos e atendeu o telefone. Ficou surpreendido ao ouvir a voz da capitã Kathryn Bryant.
— Kat? Queres falar com a Seichan?
— Não, estou a telefonar-te a pedido do diretor. Sei que continuas de licença, mas estamos a acompanhar uma situação e uma das pessoas envolvidas pediu especificamente para falar contigo.
Gray endireitou as costas.
— Quem?
— É uma longa história. Conto-te tudo quando chegares.
Gray cobriu o telefone com a mão e virou-se para Seichan.
— Passa-se qualquer coisa. Querem-me na Sigma imediatamente.
— A sério? — Os olhos verdes de Seichan brilharam com mais intensidade, realçando as pintas douradas nas íris. Era evidente que ficara intrigada, porventura até com uma ponta de inveja. Mesmo assim, acenou com a cabeça. — Vai, não percas mais tempo.
Gray encostou novamente o telefone ao ouvido, mas Seichan ergueu a mão.
— Quero dizer, vais depois de mudares a fralda ao Jack.
Gray sorriu.
É o que dá meteres-te com uma mãe tigre...
10h02
Washington, D.C.
— Bem-vindo. É bom ter-te de volta ao covil do leão — disse Painter Crowe.
Gray entrou no gabinete do diretor. Em cinco meses, nada mudara. Aquela divisão sem janelas continuava espartana. As únicas peças de mobília eram um par de cadeiras e a enorme secretária de mogno que ocupava o centro da sala. A decoração resumia-se a uma estátua de bronze Remington colocada num pedestal a um canto. Uma figura de um índio a cavalo, com as costas curvadas, um lembrete da herança cultural do diretor e do custo da batalha suportado pelos ombros de qualquer soldado, independentemente das suas origens.
Painter encontrava-se de pé, diante do trio de ecrãs planos que ocupava três das quatro paredes. O diretor despira o casaco azul-escuro, que agora estava pendurado nas costas da sua cadeira. Tinha as mangas da camisa branca arregaçadas, um sinal evidente de que se encontrava ali há horas, se é que não passara a noite inteira no gabinete. O centro de comando da Sigma, situado no subsolo do Castelo Smithsonian, em pleno National Mall, zumbia de atividade. Ao fundo do corredor, a própria Kat, debruçada sobre um computador na companhia do seu braço direito, limitara-se a acenar quando Gray passou pelo centro de comunicações.
Não há dúvida de que aconteceu qualquer coisa que deixou toda a gente nervosa.
Gray sentiu-se incomodado. Um dos operacionais de topo da Sigma, estava habituado a ver-se no centro da ação. Agora, passados meses de ausência, era como se tivesse entrado a meio de uma história. Não fazia ideia do que estava a acontecer, e o próprio ritmo que se vivia ali dentro era-lhe de repente estranho.
Não gostava nada de se ver naquele papel.
Painter encaminhou-se na direção da secretária, permitindo que Gray lançasse um olhar à imagem que o diretor estivera a observar num dos ecrãs. Tratava-se de um mapa topográfico da costa leste da Gronelândia. Triângulos vermelhos espalhavam-se por cima do mar vizinho. Os códigos associados aos triângulos sugeriam que se tratava de aviões militares.
— Senta-te — disse Painter. — A Kat vai juntar-se a nós assim que consiga transferir uma videochamada.
Gray sentou-se numa das cadeiras e o diretor ocupou o seu lugar no outro lado da secretária. Uma década mais velho, Painter mantinha a boa forma física. Não era o tipo de homem dado a devaneios. A única diferença desde a última vez que Gray o vira era o cabelo preto, que estava mais comprido, quase a tocar-lhe no colarinho da camisa. O rosto moreno estava profundamente bronzeado, o que acentuava ainda mais a ascendência nativo americana.
Gray conhecia o motivo por trás do novo visual do diretor. Monk contara-lhe que ele estivera de férias com a mulher, Lisa. Um longo passeio a cavalo pelo Arizona, dissera Monk, o tipo de programa apenas acessível a casais sem filhos, cujas vidas eram certamente mais livres e despreocupadas.
Lembro-me bem desses tempos, pensou Gray, embora lhe parecesse que os vivera há muito.
O diretor regressara na semana anterior, na altura certa para lidar com aquela crise, pelos vistos. Antes de dizer uma palavra, Painter passou a mão pelo cabelo e prendeu atrás da orelha uma madeixa branca que lembrava uma pena de águia.
— Ao que parece, a paternidade fica-te bem — disse por fim, fitando Gray.
— Isso é porque não me viste há uns meses — retorquiu Gray, esfregando o queixo e lembrando-se da barba que deixara crescer durante uns tempos. Ao longo das semanas, o cansaço acumulara-se de tal maneira que os seus hábitos de higiene se tinham tornado, na melhor das hipóteses, intermitentes. Um bom exemplo disso era o modo como se apresentara na Sigma, com uma calças de ganga pretas e uma camisola cinzenta de capuz que tirara do cesto da roupa.
Painter anuiu.
— Mesmo assim, obrigado por teres interrompido a tua licença.
— O que se passa, afinal?
— Uma situação na Gronelândia que explodiu nas nossas mãos. Há uns dias, fomos informados da descoberta de um navio antigo no coração de um glaciar.
Painter pegou num controlo remoto, rodou na cadeira e apontou-o na direção do ecrã à sua esquerda. O aparelho iluminou-se com uma imagem de baixa resolução dos destroços de um navio preso no gelo.
— Uma dupla de cientistas, um climatologista e um geólogo, descobriram-no por acaso. Juntamente com um tesouro.
Painter premiu um botão do controlo remoto. A imagem do navio foi substituída pela imagem de um mapa dourado, com um objeto esférico embutido, guardado no interior de uma caixa escura.
Gray levantou-se e aproximou-se do ecrã.
— Não percebo. De que forma é que esta descoberta nos interessa?
— Já vais perceber porquê. O que interessa reter é que precisávamos de confirmar a autenticidade desta descoberta e de a guardar em lugar seguro. Com isso em mente, fiquei a saber que a Maria Crandall conhecia uma colega, uma arqueóloga náutica, que se encontrava a trabalhar no Egito, e convencemo-la a viajar para a Gronelândia a fim de investigar os destroços do navio.
— A Maria Crandall? A namorada do Kowalski?
— Exatamente. Encontravam-se os dois em África e pedi-lhes que viajassem também para a Gronelândia. Se a descoberta se revelasse verdadeira, o Kowalski ficaria então responsável pela proteção do tesouro, até que o pudéssemos transferir para um lugar seguro.
Gray começou a perceber por que razão a situação lhes explodira nas mãos, como dissera Painter.
Se o Kowalski estava envolvido nisto...
Painter prosseguiu, partilhando com ele uma história que envolvia uma emboscada mortal, o roubo de um mapa e o sequestro de uma arqueóloga. Mas havia mais: o diretor também lhe falou de algo que fora libertado dos destroços do navio, algo que era simultaneamente assustador e impossível.
— Estamos à espera de mais pormenores — admitiu o diretor. — Uma violenta tempestade tem dificultado as comunicações, mas, agora que as condições começaram a melhorar, temos cinco Poseidon a sobrevoar a área, à caça do submarino.
Gray desviou o olhar para o mapa da Gronelândia, onde os triângulos vermelhos se deslocavam lentamente sobre o oceano Ártico.
— Este apanhou alguma pista? — perguntou, apontando para um triângulo que se deslocava num sentido diferente dos outros.
Painter olhou para trás.
— Não. Um conjunto de boias de sonar detetou o submarino a deslocar-se para norte, ao longo da costa. Viajou para lá do alcance das boias, porém, considerando a velocidade e a trajetória, calculamos que esteja a tentar esconder-se na calota polar.
— A partir daí, pode ir para onde quiser sem ser detetado.
— Exato.
— Disse que os atacantes falavam árabe. Temos algumas informações acerca de quem possam ser?
— Ainda não. A Kat pôs todas as agências de serviços secretos internacionais a tentar responder a essa pergunta. Ela foi capaz de determinar que o geólogo assassinado, Conrad Nelson, partilhou estas fotografias que te mostrei com os chefes dele na Allied Global Mining.
— E as fotografias chegaram aos olhos errados.
— E aos certos. As fotografias também despertaram a atenção de outra agência. Eles pediram-nos ajuda e arrastaram a Sigma para esta confusão. — O diretor fitou Gray. — Foi esse grupo que pediu a tua colaboração.
— Eu? Porquê?
— Eles querem...
Painter foi interrompido por gritos no corredor. Gray reconheceu a voz de Kat, que tentava acalmar alguém. O seu interlocutor, cujo sotaque era nitidamente de Boston, parecia a um tempo espantado e zangado.
— Sim, senhor, quem podia adivinhar que isto existia? E debaixo dos nossos narizes, ainda por cima!
Painter levantou-se, consultou o relógio e suspirou.
— Chegou mais cedo. Dadas as circunstâncias, o presidente pediu-me que recebesse pessoalmente o fulano nas nossas instalações.
Gray franziu o sobrolho. Fora do universo da DARPA, apenas um punhado de pessoas tinha conhecimento da existência da Força Sigma e ainda menos daquelas instalações subterrâneas em pleno National Mall.
Kat foi a primeira a entrar, apoiada numa bengala. Encontrava-se praticamente recuperada dos acontecimentos do Natal anterior, mas o lado esquerdo do corpo continuava um pouco fraco. Vestia o habitual uniforme azul-escuro da marinha, com um pequeno sapo de esmeralda na lapela, uma recordação dos companheiros que havia perdido em combate.
Desviou-se para um dos lados para dar passagem ao visitante.
— Por aqui, senador.
O homem de ombros largos, com um elegante fato Armani, gravata azul e sapatos pretos impecavelmente engraxados, entrou no gabinete de Painter. Gray sentiu-se como um maltrapilho pela maneira como se encontrava vestido, sobretudo na presença daquele homem.
Painter contornou a secretária e apertou a mão do visitante.
— Senador Cargill, bem-vindo ao comando da Sigma.
Gray repreendeu-se a si mesmo. Momentos antes, embrenhado na narrativa de Painter, nem sequer se apercebera da ligação. Ali estava uma prova de como a ausência o deixara enferrujado. De outra forma, o nome da arqueóloga raptada, Elena Cargill, nunca lhe teria escapado.
Esta agitação toda é por causa dela?
O senador Kent Cargill olhou em volta do gabinete. O seu olhar fixou-se por um instante no mapa da Gronelândia e depois em Painter. O homem media mais de um metro e oitenta, todo ele músculos esculpidos por duas comissões de combate no Médio Oriente, ao serviço da infantaria, uma delas durante a operação Tempestade no Deserto. O cabelo louro-escuro era ligeiramente encaracolado, mas despenteado o suficiente para lhe dar o aspeto de alguém minimamente acessível.
Seriam poucas as pessoas nos Estados Unidos que não conheciam o seu rosto. Havia quem o considerasse o Kennedy do novo milénio, sobretudo pelo sotaque de Boston. À semelhança do malogrado presidente, o senador também era um católico convicto, porém, ao contrário de Kennedy, a sua figura nada tinha de polarizador. Os republicanos e os democratas adoravam-no. Era fiel à sua fé, mas tinha uma mente aberta; defendia as suas convicções, mas nunca se recusava a negociar. Estas qualidades tornavam-no uma raridade no Capitólio e, numa altura em que as eleições se aproximavam, circulavam rumores de uma possível candidatura à presidência.
Gray trocou um olhar com Painter. Tinha sido o diretor que recrutara Elena para investigar os destroços do navio. Posto de outro modo, tinha sido ele quem a colocara em perigo.
O olhar do senador Cargill era duro e frio e, nesta matéria, intransigente.
— Alguém é capaz de dizer onde está a minha filha?
9
22 de junho, 17h52 TRT
Algures sobre o mar Egeu
É como se voltasse ao início...
Pela janela do jato privado, Elena observou a vastidão azul, as diferentes ilhas que iam surgindo. Tendo passado a carreira inteira a trabalhar naquela região, não tinha dificuldade em identificar as características geográficas e calcular mais ou menos onde se encontrava.
Estou de volta ao Mediterrâneo... ao mar Egeu, provavelmente.
Elena calculava que deviam ter passado mais de vinte e quatro horas desde que fora enfiada naquele submarino infernal, mas não tinha a certeza. Os seus captores haviam-na aprisionado numa cabina com um beliche. Como não existia uma única vigia nas paredes, era difícil calcular a passagem do tempo. Tinha sido alimentada e, embora não pudesse afirmar que fora bem tratada, também não tinha sido alvo de crueldade desnecessária. Conseguira até dormitar, apesar dos nervos. Pelo menos, até acordar em pânico, com o submarino a estremecer violentamente.
Com o coração a martelar na garganta, interrogara-se se o submarino havia sido atingido por um torpedo ou por uma carga de profundidade. Logo a seguir, o gigantesco brutamontes irrompeu pela cabina e levou-a para o centro de comando. A primeira coisa em que reparou foi na luz do Sol e na brisa fresca que entrava pela escotilha aberta da torre. Obrigada a subir as escadas sob ameaça de arma, deparou-se então com uma paisagem de gelo brilhante e neve branca soprada pelo vento. Foi quando percebeu que o tremendo impacto que sentira fora provocado pelo submarino a romper a calota polar ártica.
Não muito longe, um avião a turbo-hélice aguardava numa pista improvisada. Desembarcou com seis membros da equipa de assalto e o submarino submergiu rapidamente, a fim de evitar qualquer hipótese de deteção. Os homens levaram-na para o avião, que voou para uma ilha qualquer, onde foi por fim transferida para aquele jato.
Um movimento interrompeu os seus pensamentos. A líder dos atacantes avançou pela cabina. O interior do jato era requintado, com acabamentos em madeira de freixo e assentos forrados com couro bege. O bar na parte de trás estava cheio de garrafas e copos de cristal Baccarat. Só sabia esse pormenor por causa do elegante cálice com água pousado na mesa em frente dela. Parecia-lhe evidente que o motivo do ataque na Gronelândia nada tinha que ver com o hipotético valor dos metais preciosos do misterioso mapa.
Existem interesses maiores em jogo.
A mulher sentou-se no lugar em frente, no outro lado da mesa. Elena reparara que ela mal abrira a boca desde que embarcara no avião. A pele morena empalidecera um pouco e o olhar parecia perdido. Após a fuga apressada, devia ter estado a matutar nos acontecimentos, a digerir o que testemunhara e a tentar compreender o horror libertado nos destroços do navio.
— Estamos quase a aterrar — disse ela.
Elena fitou-a, demasiado curiosa para ficar calada e disposta a correr o risco de ser castigada. Algo lhe dizia que aquela era a altura para tentar obter respostas.
— Quem são vocês? O que querem de mim?
A líder respondeu com silêncio e estudou-a durante uns segundos, como que a avaliar se ela era merecedora de tal conhecimento. Depois disse:
— Pode chamar-me Bint Musa.
Elena traduziu o nome.
— Filha de Moisés.
A mulher anuiu e tocou com a ponta do dedo na cicatriz.
— Um título que me custou muito a ganhar.
Elena engoliu em seco, sem razão para duvidar daquelas palavras. Também fez o possível por manter uma expressão neutra. A pressão no fundo das costas era cada vez mais difícil de disfarçar. Até ao momento, ninguém se apercebera do que escondia. Pelos vistos, os atacantes achavam que ela não constituía uma ameaça e, antes de a trancarem no submarino, apenas a tinham revistado sumariamente e confiscado o telemóvel.
Assim sendo, não tinham encontrado o pequeno pacote selado com pele de foca que guardara no bolso interior da parca, o artefacto que recuperara do cadáver do comandante do navio. Na cabina do submarino, nervosa e a precisar de uma distração, arriscara dar uma espreitadela ao objeto. Rompera o selo de cera, retirara o invólucro de pele envelhecida e encontrara dois pequenos cadernos com capas de couro cosidas.
O receio de os danificar impedira-a de os abrir, mas os títulos gravados nas capas de couro permaneciam legíveis. Ambos estavam escritos em árabe. O primeiro era uma única palavra, ?????, que significava Odisseia. Na altura, interrogara-se se aquilo poderia ser uma tradução escrita do poema épico de Homero, mas não podia arriscar abrir o caderno para confirmar.
Sobretudo quando o segundo título se mostrava ainda mais intrigante.
As palavras em árabe continuavam às voltas na sua cabeça, juntamente com a tradução.
Último Testamento do Quarto Filho de Moisés.
Elena calculava que devia ser o diário de bordo do comandante, o relato de como o navio acabara por ir parar àquela caverna na Gronelândia, por que razão ali ficara e também de onde viera, para trazer a bordo aquela carga sinistra. Queria muito ler o caderno, mas receava estragar o que podia ser um importante registo histórico, as últimas palavras de um Filho de Moisés.
Fitou a mulher sentada à sua frente, que reclamava o mesmo título. Haveria alguma ligação? Era impossível que não houvesse. Os atacantes pareciam saber mais acerca do navio e do mapa do que qualquer outra pessoa.
A voz do piloto fez-se ouvir na cabina. Falava em turco, o que surpreendeu Elena. Todos os outros falavam árabe.
— Vamos aterrar em dez minutos. Apertem os cintos.
Elena tinha o cinto posto e limitou-se a desviar o olhar para a janela. A linha costeira surgiu mais à frente. Se o seu palpite estivesse certo e aquilo fosse o mar Egeu, aquela costa devia pertencer ao território da Turquia. Para controlar o nervosismo, tentou determinar o destino final do avião. Procurou por marcos terrestres, verificou a posição do Sol e sentiu um arrepio na espinha.
Havia um canal de água que se estendia para nordeste. Aquilo só pode ser o estreito de Dardanelos. Na antiguidade clássica, chamava-se Helesponto, mar de Hele. O estreito cortava pela costa noroeste da Turquia e fazia ligação ao mar de Mármara.
Não há dúvida de que completei um círculo... de Helheim ao mar de Hele.
Focou-se novamente na linha de costa, cada vez mais próxima. Reconheceu a profunda reentrância de uma baía, os penhascos altos de cada lado. Tinha visto uma imagem daquele porto há pouco tempo. Visualizou o barquinho dourado do mapa ancorado naquela mesma extensão de costa. Na caverna, lembrava-se de proferir o nome daquele lugar e de ter tido a confirmação da mulher sentada à sua frente.
O avião alcançou a costa e começou a perder altitude.
Quilómetros de muralhas antigas tornaram-se visíveis, reforçando ainda mais a sua convicção.
Conhecia aquele lugar.
As ruínas de Troia.
Desviou o olhar para a mulher, a autoproclamada Bint Musa, a Filha de Moisés. Os olhos negros dela fitaram-na.
Que raio se passa aqui?
10
22 de junho, 11h08 EDT
Washington, D.C.
Gray afundou-se na cadeira em frente da secretária do diretor.
— É bom que encontremos a filha dele.
O senador Kent Cargill acabara de sair, acompanhado por Kat.
Painter continuava de pé, com uma expressão séria.
— Concordo. A última coisa de que precisamos é que este homem se torne nosso inimigo, sobretudo se acabar na Casa Branca.
O diretor passara quarenta e cinco minutos a pôr o senador ao corrente do que estava a ser feito para encontrar Elena, incluindo os passos seguintes, que envolviam a colaboração de agências de serviços secretos e forças policiais do mundo inteiro. Cargill ouvira com atenção, fizera perguntas pertinentes e oferecera os seus recursos enquanto presidente do Comité de Relações Exteriores do Senado.
Gray mantivera-se à margem da discussão e limitara-se a ouvir. De certa forma, contava que o senador, um pai preocupado e um homem habituado a ter as coisas à sua maneira, usasse o seu peso político para confrontar o diretor e exigir-lhe o Céu e a Terra. Gray não podia negar que os olhos do homem clamavam por ação, que os lábios tensos se retraíam de preocupação, mas a verdade é que nunca perdera a compostura, porventura sabendo que não seria com ameaças que recuperaria a filha.
Gray tentou imaginar como reagiria se alguém raptasse o pequeno Jack. Estaria a subir às paredes, provavelmente. Tendo testemunhado o controlo do senador diante daquela situação, não podia deixar de pensar que o homem daria um bom presidente. Além de não lhe faltar fibra, possuía uma mente perspicaz.
Quanto à culpa da Sigma no envolvimento da filha, o senador foi o primeiro a admitir que Elena era dona do seu nariz e apaixonada pelo trabalho. Nesse aspeto, os dois eram iguais. Gray até se apercebera de um brilho de interesse nos olhos dele quando Painter lhe falou do navio aprisionado no gelo da Gronelândia, uma descoberta que provava que os árabes tinham chegado ao Novo Mundo séculos antes dos viquingues.
O senador abanara a cabeça diante de tal revelação e depois sorrira, confessando que «ao saber de tal descoberta, dificilmente alguém seria capaz de manter Elena afastada desse maldito glaciar».
Com as coisas resolvidas com respeito de parte a parte, Painter contornou finalmente a secretária e sentou-se. Fitou Gray.
— Como deves ter percebido, precisamos mesmo de contar com os melhores de nós neste caso.
Gray compreendeu o pedido implícito e esperou que essa descrição ainda se aplicasse a si.
— De qualquer modo, não sou o único que gostava de poder contar contigo — disse Painter, recordando a Gray a conversa anterior.
— De quem é que estamos a falar?
— Como te disse, as fotografias tiradas pelo geólogo foram partilhadas com os seus empregadores e provavelmente chegaram a mais alguém.
— Aos olhos das pessoas erradas. Já percebi essa parte. Só não percebi a parte de também terem chegado aos olhos certos. Disse que havia outra agência em campo. De qual se trata?
Antes que Painter pudesse responder, Kat bateu à porta e entrou no gabinete.
— Agora que os estimados convidados se foram embora — disse ela —, podemos retomar a videochamada.
Dirigiu-se ao computador de Painter e ergueu uma sobrancelha na direção do diretor, que acenou com a cabeça, dando-lhe permissão para usar o equipamento. Kat premiu meia dúzia de teclas e o ecrã atrás dele piscou umas quantas vezes. Uma imagem materializou-se lentamente, com os píxeis a formarem o rosto de um homem. A figura parecia estar debruçada sobre uma secretária, com a cara quase colada à câmara que transmitia do seu lado.
Os olhos verdes brilharam divertidos, enquanto ajeitava uma madeixa de cabelo preto, que condizia com o fato negro. O branco do colarinho clerical católico saltava à vista.
O homem era Finn Bailey. O padre Finn Bailey.
Gray soube imediatamente quem requisitara o seu envolvimento.
— Estou a ver que temos o filho pródigo de volta — disse o padre com o seu sotaque irlandês. — Bons olhos o vejam, comandante Pierce.
Gray ignorou o comentário e virou-se para Painter.
— A outra entidade que soube da descoberta, que viu as fotografias do geólogo... foi o Vaticano, portanto.
— Não todo o Vaticano — retorquiu Bailey no ecrã. — Só os que pertencem à sua intelligenza.
Gray pressentiu que ia ouvir uma história muito mais complexa. Pouca gente sabia que o Vaticano dispunha de uma agência de serviços secretos, a sua própria rede de espiões, à semelhança de qualquer Estado. Durante décadas, ou mesmo séculos, estes operacionais tinham-se infiltrado em grupos de ódio, em sociedades secretas ou em países hostis, em todo o lado em que os interesses do Vaticano fossem ameaçados. Posto de outro modo, os agentes do Vaticano eram James Bonds de colarinho clerical, só não tinham licença para matar.
A relação de Gray com a organização começara onze anos antes, quando conhecera monsenhor Vigor Verona, um antigo membro da intelligenza e um homem honrado que acabaria por lhe salvar a vida, e cuja sobrinha roubara em tempos o coração de Gray. Ambos estavam mortos, tendo-se sacrificado para salvar o mundo.
A visão do padre Bailey era o suficiente para reacender as recordações e as saudades. O sacerdote — que não era mais velho que Gray — fora um antigo aluno de monsenhor Verona na Pontifícia Academia Romana de Arqueologia, antes de ingressar na intelligenza do Vaticano. Pela ligação ao velho amigo, Gray estava disposto a ouvir o padre, mas parte de si continuava a achar o homem um nadinha irritante, demasiado seguro de si, demasiado convencido de que estava à altura do antigo mentor.
Lamento, meu caro, mas nunca serás como o Vigor, pensou Gray. Depois, perguntou:
— O que tem isto que ver com o Vaticano?
— Ah — disse Bailey —, essa é uma longa história. Mais vale começarmos pelo presente. Há uma semana, a nossa organização foi alertada para um conjunto de fotografias a circular acerca de uma descoberta na Gronelândia. Percebemos a importância dessa descoberta. Sobretudo do mapa de ouro e do astrolábio de prata, que estão associados a um mistério secular, aqui mesmo, no Vaticano.
— Que mistério? — perguntou Gray.
Bailey ergueu a mão.
— Já lá vamos. Nós queríamos que a descoberta fosse autenticada e que o tesouro nos fosse trazido. Essa era a nossa prioridade, porém, como podem calcular, não existem muitas igrejas católicas na Gronelândia, muito menos membros da intelligenza.
— Daí terem pedido a nossa ajuda — explicou Painter.
— Acreditávamos que o assunto precisava de ser resolvido depressa — prosseguiu Bailey. — Sobretudo porque calculávamos que a notícia podia espalhar-se.
Junto ao computador, Kat endireitou-se.
— O que se provou ser o caso, infelizmente.
— Sabem alguma coisa acerca dos atacantes? — perguntou Gray.
— Não. Mas sabemos que o ataque não foi um êxito completo.
Gray franziu o sobrolho.
— Porquê?
Painter encarregou-se de responder.
— O outro cientista, o climatologista Douglas MacNab, conseguiu esconder o astrolábio, depois de este se ter soltado acidentalmente do mapa. Ele disse-nos que os atacantes o queriam. Chamaram-lhe a Chave de Dédalo.
Chave de Dédalo?
— Desconhecemos a razão desse nome — admitiu Bailey. — No entanto, um dos nossos membros, um colega na Pontifícia Academia Romana de Arqueologia, conhece bem estes astrolábios esféricos. São uma autêntica raridade, e podemos adivinhar porque é que os atacantes o queriam.
— Porque é que o queriam? — perguntou Gray.
— O monsenhor é a pessoa indicada para explicar.
Bailey premiu uma tecla do computador, alargando o campo de visão da câmara e revelando uma figura à esquerda. Gray endireitou as costas. A reação não se devia apenas ao facto de Bailey não ter mencionado que havia mais alguém a ouvir a conversa. Isso era o tipo de coisa que condizia com a natureza impertinente do padre.
O próprio Painter pareceu incomodado. Kat limitou-se a lançar um olhar frio.
Gray inclinou-se para a frente, fazendo o possível por disfarçar o choque inicial. Talvez fosse por causa da expressão monsenhor, mas, por um instante, pensou que olhava para Vigor Verona, alguma aparição fantasmagórica do seu velho amigo. Quando o homem se aproximou, porém, Gray percebeu que era apenas uma ilusão causada pelas semelhanças físicas. O monsenhor usava as vestes formais do seu título. Devia ter mais ou menos a idade de Vigor, sessenta ou setenta anos, com a mesma franja grisalha ao longo do recorte da tonsura.
O padre Bailey fez as apresentações.
— Este é monsenhor Sebastian Roe, professor universitário e um veterano da nossa organização. Podem falar à vontade na sua presença.
Claro, até parece que tivemos escolha...
O monsenhor tomou o lugar de Bailey e sorriu timidamente.
— Pelas vossas expressões, vejo que o padre Bailey não vos informou da minha presença. — Lançou um olhar crítico na direção do padre. — Houve alguém que me disse um dia «os jovens veem os velhos como tolos, e os velhos sabem que os jovens o são».
Gray não conseguiu conter um sorriso. O homem até falava como Vigor.
Monsenhor Roe devolveu a atenção aos rostos no seu ecrã.
— Peço-vos também que me perdoem, caso vos pareça demasiado professoral. Há quatro décadas que ensino. Quando falo para um grupo, o tom sai-me com naturalidade.
Posto isto, o monsenhor aclarou a garganta e começou a explicar.
— Para compreenderem a importância do objeto recuperado do navio, têm de perceber primeiro a sua raridade. Ninguém sabe quem é que inventou o primeiro astrolábio, um objeto que é em parte um mapa cósmico e em parte um computador analógico, capaz de determinar a posição das estrelas e das constelações, o nascer e o pôr do sol e até direções náuticas. No entanto, muitos acreditam que foi inventado pelos gregos, no segundo século antes de Cristo, talvez por Apolónio ou Hiparco.
Roe fez um gesto largo, como que a dispensar esse tipo de pormenor.
— Em todo o caso, tratava-se de uma versão tosca. Mais tarde, o astrolábio foi refinado até à sua forma mais complexa pelos povos do Médio Oriente, durante a idade de ouro islâmica. Mesmo assim, estes astrolábios eram planos. Permitam-me que vos mostre.
O monsenhor premiu uma tecla do computador. Abriu-se uma janela num canto do ecrã, que exibia um prato metálico coberto com ponteiros, círculos e inscrições.
— Este era o aspeto do astrolábio no século nove. O primeiro astrolábio esférico foi inventado a seguir, provavelmente por Al-Nayrizi, um matemático muçulmano. No entanto, até aos dias de hoje, apenas um destes dispositivos foi descoberto e encontra-se em exposição no Museu de História e Ciência da Universidade de Oxford.
O monsenhor premiu outra tecla, substituindo a imagem anterior pela imagem de um globo de bronze decorado com símbolos, números árabes e constelações, tudo rodeado por aros igualmente gravados com inscrições.
— Este artefacto data do século quinze, da Idade Média, e foi provavelmente feito na Síria. Contudo, a característica mais intrigante é a inscrição gravada na parte de baixo.
O monsenhor substituiu novamente a imagem, revelando a metade inferior do globo, onde se podia ver uma ténue inscrição.
— A inscrição diz O Trabalho de Musa.
Gray levantou-se e aproximou-se do ecrã.
— Musa? É o nome do inventor?
Roe pareceu fitar diretamente Gray a partir do ecrã.
— Essa é a convicção geral, mas, se investigarmos melhor a história...
Bailey avançou e cortou a palavra ao monsenhor.
— Como disse antes, é melhor começarmos pela situação em mãos, antes de nos perdermos no passado.
Gray semicerrou os olhos, pressentindo que Bailey tinha algo importante na manga.
— O astrolábio descoberto na Gronelândia é o segundo dispositivo destes jamais encontrado — prosseguiu o padre. — Por si só, torna-o extremamente valioso, mas o astrolábio é também uma peça fundamental do mapa roubado no navio. Na verdade, ele é a chave do mapa. Foi por isso que pedi que o trouxessem para Roma. Talvez consigamos descobrir o que anuncia, para onde aponta.
Painter levantou-se e aproximou-se do ecrã com o mapa da Gronelândia, onde os triângulos vermelhos ainda assinalavam o progresso das buscas em tempo real. Apontou para o único triângulo que se afastara dos outros e voava em direção a leste sobre o Atlântico.
— O Kowalski, a Maria e o doutor MacNab estão a bordo deste Poseidon. Vão a caminho do Vaticano com o artefacto.
— Gostávamos que se juntasse a nós, comandante Pierce — disse Bailey. — O astrolábio é a primeira peça de um enigma maior, embora nos faltem outras. Podemos usar a sua perceção única para tentar decifrar o mistério.
Agora sim, começa a fazer sentido.
Muito mais do que pela sua destreza militar, Gray sabia que a Sigma o recrutara sobretudo por um talento especial. Em criança, Gray crescera entre extremos opostos. A mãe, uma mulher de fé e professora numa escola católica, era também uma bióloga de créditos firmados. O pai, um irlandês tempestuoso a viver no Texas, trabalhara na indústria petrolífera até ao dia em que um acidente de trabalho o atirou para o lugar de «dona de casa». Provavelmente, tinha sido este ambiente em que crescera que o habituara a olhar para as coisas de forma diferente, sempre a tentar equilibrar visões extremas. Ou talvez fosse uma característica impregnada no seu código genético. Fosse como fosse, a verdade é que era capaz de encontrar padrões onde mais ninguém conseguia.
É por isso que o padre me chamou.
— Acho que tem uma noção geral do propósito do mapa roubado — disse Gray. — Antes de aceitar viajar para Roma, quero que me diga o que sabe.
Os olhos de Bailey brilharam com mais intensidade.
— Tenho a certeza de que já descobriu sozinho, comandante Pierce. Caso contrário, mais vale ficar em casa.
Gray interrogou-se se esmurrar um padre era um pecado mortal, mas Bailey estava certo. Ele tinha uma boa ideia de qual era a resposta à pergunta que fizera.
— Este navio transportava uma carga incompreensível — disse. — Algo horrível, alimentado por uma substância radioativa volátil...
Roe anuiu.
— Já discutimos isso, acreditamos que se trata de uma forma de fogo gre...
Bailey ergueu a mão.
— Por favor, vamos ouvir a conclusão do comandante Pierce.
O monsenhor abanou a cabeça. À semelhança de Gray, a petulância do jovem padre começava a irritá-lo. Ainda assim, limitou-se a cruzar os braços.
Gray prosseguiu.
— O mapa mecânico deve ter sido construído para funcionar como uma ferramenta de navegação. Para conduzir o navio à fonte da carga mortífera que transportava.
Bailey sorriu.
— Bravo. E para o convencer a abandonar temporariamente as suas responsabilidades parentais, vou dizer-lhe o nome dessa fonte.
Gray suspirou, cada vez mais farto daquele jogo de segredos.
— Qual é?
— Os construtores do mapa chamavam-lhe Tártaro.
Painter franziu o sobrolho.
— Tártaro? O Inferno grego?
Gray recordou as palavras do diretor acerca do que tinha sido libertado no porão do navio. O nome era perfeitamente adequado.
Bailey anuiu.
— Mas tenha em conta que o Tártaro não era apenas o abismo grego de tormenta e sofrimento. Era também o cantinho do reino de Hades onde os Titãs foram aprisionados. Os deuses monstruosos que precederam os deuses do Olimpo. Criaturas com um poder imenso, seres de fogo e destruição...
O padre deixou as palavras suspensas no ar.
Kat virou-se para Painter.
— Metaforicamente falando ou não, este lugar desconhecido é evidentemente a fonte de um combustível desconhecido e o berço de armas diabólicas. Se o padre Bailey e os seus colegas da intelligenza o conhecem, os homens que sequestraram Elena Cargill, e que parecem saber mais do assunto do que todos nós, também devem estar a par da lenda.
Gray anuiu.
— E tencionam encontrá-lo para se apoderarem dos seus recursos.
— Razão pela qual gostávamos que o comandante Pierce se juntasse a nós — disse Bailey. — Não podemos perder tempo, e a capitã Bryant acabou de explicar porquê. O nosso inimigo desconhecido parece saber mais do que nós.
Painter fitou Gray.
— Bom, antes de aceitar — disse Gray —, vou ter de falar com uma pessoa.
E ela não vai ficar feliz.
12h33
Takoma Park, Maryland
Seichan praguejou enquanto ajustava a campânula ao seio esquerdo. Devia ter comprado uma bomba dupla. Recostou-se melhor na cadeira, com as costas apoiadas contra uma almofada. Amamentara Jack uma hora antes e pusera-o a dormir no berço, mas sabia que ele podia acordar a qualquer momento.
Enquanto o bebé dormia, ela fitou as fotografias que iam surgindo lentamente, uma a seguir à outra, numa moldura digital: Jack acabado de nascer com um barrete do hospital na cabeça, Jack com um mês de idade e vestido com uma camisolinha de marinheiro, Jack a sorrir, Jack nos braços de Gray com a típica expressão de pai babado.
Seichan sentiu um calor no coração e mudou a bomba para o outro seio.
A moldura exibiu outra imagem: Gray de calções de banho a molhar os pezinhos de Jack na piscina de bebé no jardim da casa. Seichan observou o corpo musculado de Gray, o brilho dos olhos azuis, o cabelo molhado. Amava Jack, dolorosamente, mas também reconhecia que as responsabilidades parentais, para não falar da privação de sono, tinham afetado a intimidade entre ela e Gray. Por outro lado, a chegada de Jack também trouxera muito à relação dos dois.
Sabia perfeitamente que a vida era feita de evoluções, que os laços românticos mudavam com o tempo. Se assim não fosse, a estagnação podia matar uma relação, da mesma forma que a infidelidade.
À medida que as imagens se sucediam, recordou o momento em que conhecera Gray. Acontecera num laboratório de pesquisa biológica em Fort Detrick. Ela alvejara-o. Lembrava-se perfeitamente do momento, mas era como se fosse outra pessoa a premir o gatilho. Como se fosse um filme em vez da vida real.
Nesse tempo, ela era uma assassina de uma organização terrorista. Mais tarde, acabaria por trair os seus empregadores e até ajudara a aniquilar o grupo. Sozinha e sem ter para onde ir, encontrara um porto de abrigo na Sigma, e depois Gray dera-lhe um lar.
Ainda assim, não podia ignorar a essência da antiga Seichan que persistia e nunca poderia negar. Afinal de contas, fora treinada brutalmente e desde tenra idade para ser uma assassina. A necessidade de adrenalina continuava a correr-lhe nas veias.
Regressou ao momento do tiro e à imagem de Gray a cair. Outras mortes, bastante mais sangrentas, desfilaram diante dos olhos da mente. Não sentiu o horror pelas vidas que ceifara, apenas um distanciamento familiar, quase a roçar a satisfação.
Na moldura, a imagem mudou outra vez para uma fotografia sua a beijar ternamente a cabeça de Jack.
Quem é esta mulher?
Quem sou eu?
Não sabia ao certo e receava conhecer a resposta. Para piorar as coisas, e isto durava há semanas, parecia-lhe que estava a perder-se a si própria, e, se isso acontecesse, o que lhe restaria para oferecer a Gray? Que tipo de mãe poderia ser para Jack? Para se abstrair desses pensamentos, tentara focar-se na tarefa em mãos, o que era também uma competência adquirida enquanto assassina. Concentrara-se no seu bebé, dedicando-lhe toda a energia, porque isso seria sempre mais fácil do que olhar-se ao espelho.
A estratégia, porém, deixara de resultar.
Havia qualquer coisa a crescer dentro de si, acompanhada de um novo receio.
Até descobrir quem sou, talvez o Jack esteja melhor sem mim.
Apercebendo-se de que o fluxo de leite começava a diminuir, desligou a bomba, desenroscou o biberão e colocou-lhe a tampa.
No mesmo instante, ouviu a porta da rua a abrir-se e a voz de Gray a chamá-la.
— Na cozinha! — gritou-lhe de volta, com a voz a falhar um bocadinho.
Em boa hora chegaste.
As botas de Gray martelaram o soalho de madeira da sala, e depois ele irrompeu pela porta oscilante da cozinha a transpirar e com a respiração pesada. A sua presença encheu a divisão. O próprio odor adocicado do leite foi substituído pelo cheiro almiscarado da masculinidade dele.
— Preciso de falar contigo. A Sigma quer...
— Eu sei — disse ela, levantando-se. — A Kat ligou e explicou-me o que está a acontecer. Tens de ir.
— Não te importas?
— Não. Porque vou contigo.
Gray endireitou as costas.
— E o Jack, quem...
— A Kat fica com o Jack. O Monk está a caminho para o vir buscar. Escusado será dizer que a Harriet e a Penny ficaram histéricas com a notícia. — Seichan abriu o frigorífico e guardou os dois biberões que acabara de encher, juntando-os aos que já lá estavam. — Tenho tirado imenso leite. Tenho aqui o suficiente para vários dias, sem contar com o que está no congelador.
Virou-se e fitou Gray.
Preciso disto.
Ela esperava que Gray protestasse e tentasse demovê-la. Em vez disso, os olhos dele brilharam com entusiasmo. Era algo que não acontecia há algum tempo. Seichan sentiu o coração responder àquela centelha de entusiasmo, que logo bateu mais depressa à medida que compreendia a verdade subjacente.
Nós precisamos disto.
Gray estendeu os braços e puxou-a para si.
— Podemos estar a caminho do Inferno, sabes? E não digo isto como uma figura de estilo.
Seichan fitou-o e sorriu.
— Espero que sim. Estou a contar com isso.
11
22 de junho, 20h45 TRT
Ancara, Turquia
O quadragésimo oitavo Musa a carregar esse título abandonou a mesquita de Kocatepe, a maior de Ancara. Era onde habitualmente rezava quando visitava a capital do país. Acabara de concluir a oração do Maghrib, a prece do pôr do sol, na qual executara as obrigatórias três rak’at e duas sunnahs, a que juntara duas nafls por vontade própria.
Não é altura para meias-medidas.
Atravessou a praça, deixando a maciça edificação e os seus quatro minaretes para trás. Foi seguido pelo trio de homens ao seu serviço, os Banu Musa, os Filhos de Moisés. Não partilhavam o seu sangue, bem entendido, dado que aqueles títulos eram conquistados pela violência em várias provas de fogo. Na verdade, ele nunca tivera filhos. A segunda esposa encontrava-se na sua casa de família, nos arredores de Istambul. Tratara-se de um casamento arranjado, apenas uma das exigências necessárias à sua posição. Depois do casamento, raramente falara com ela e ainda menos lhe tocara, limitando a intimidade dos dois à necessária para a consagração do leito matrimonial.
A sua verdadeira família eram os três homens que o guardavam. Cada um carregava um par de pistolas semiautomáticas Caracal F em coldres axilares por cima dos casacos. Os seus olhos mantinham-se atentos a qualquer ameaça.
Foi acompanhado até à limusina blindada, onde duas Bint Musa, as ferozes e mortíferas Filhas de Moisés, aguardavam igualmente armadas com pistolas, mas também com facas de arremessar embainhadas nos pulsos.
Uma abriu-lhe a porta, e ele sentou-se no banco de trás.
Os Filhos sentaram-se com ele, e as Filhas ocuparam os lugares da frente. Uma sentou-se ao volante e ligou o motor. A longa limusina deslizou ao encontro do tráfego noturno e seguiu caminho pelas ruas iluminadas da cidade. Ele era esperado no aeroporto dali a uma hora, mas tinha uma última obrigação a cumprir em Ancara.
Recostou-se no assento, com o coração a martelar no peito. A ansiedade e a excitação mantinham-lhe os músculos tensos.
Tantos séculos de espera...
Uma extensa linhagem de homens usara o título de Musa, uma tradição que remontava ao século nono e ao primeiro do seu nome, Musa ibn Shakir, um eminente astrónomo nascido em Khorasan, no nordeste da Pérsia. Este tivera quatro filhos — embora a maioria dos historiadores conhecesse apenas a existência de três — que, pela sua inteligência, haviam estudado na famosa Casa da Sabedoria, em Bagdade, num tempo em que o Islão resplandecia com um fulgor dourado. Após a queda de Roma, os filhos dedicaram a vida a viajar pelo mundo, reunindo e preservando textos raros da Grécia e da Itália, aumentando o conhecimento que se encontrava neles. Apoiados nesse saber, produziriam grandes maravilhas, construindo canais e inventando dispositivos prodigiosos, e ainda escrevendo dezenas de livros.
Contudo, apenas um punhado de eleitos conhecia a história secreta dos irmãos Banu Musa, as circunstâncias que tornaram os quatro em três, a história de como um dos filhos de Musa ibn Shakir traíra os outros e lhes roubara o maior tesouro e o segredo que protegiam, destruindo todos os seus registos, todas as pistas que pudessem ser seguidas. Pela sua traição, o seu nome foi riscado dos livros, a sua existência apagada.
Para todos os efeitos, Hunayn ibn Musa nunca existiu.
Ainda assim, o que ele roubara, o que tentara ocultar dos olhos do mundo, nunca foi esquecido por uma fação da Casa da Sabedoria de Bagdade. Ao longo de gerações, de um califado para outro, de país para país, o grupo manteve esse conhecimento escondido. Quarenta e sete homens tinham carregado o testemunho, cada um assumindo o título de Musa, todos eles convictos de que o que fora perdido seria um dia recuperado.
E esse dia chegara.
Sou o quadragésimo oitavo Musa — e serei o último.
Ele sofrera o que poucos seriam capazes de suportar para alcançar aquela posição, um direito de nascimento forjado em sangue e dor. A primeira esposa — a sua querida Esra — e o filho tinham sido mortos por uma bomba curda. Ele perseguira os insurgentes e, na calada da noite, eliminara os responsáveis, juntamente com as respetivas famílias. Mas esse sangue derramado nunca seria capaz de fazer desaparecer a dor.
Ciente disso, rodeou-se de novos Filhos e Filhas, escolhendo aqueles mais dedicados à causa. O plano não era apenas que todos os curdos sofressem, mas incendiar a região inteira. Com as tensões no Médio Oriente num novo pico, a hora de desencadear o Armagedão chegara. O regresso do que fora perdido era um forte presságio.
Não me limitarei a lançar um fósforo para este barril de pólvora, mas um milhão de tochas flamejantes.
Pensou no que acontecera à equipa que enviara para a Gronelândia, os horrores que os tinham chacinado. Era uma prova de que aquilo que Hunayn tentara esconder existia de facto. Sabendo disso, Musa sabia igualmente o que tinha de fazer, o que sabia ser o seu destino desde que nascera.
Vou encontrar a entrada do Inferno, abrir as portas e libertar o Armagedão.
Sempre tivera a sensação de que o fim dos tempos se encontrava iminente. Bastava-lhe olhar para os desastres causados pelo homem, para a poluição do planeta, as guerras intermináveis e, mais importante, a decadência moral que se estendera ao mundo inteiro. Os sinais estavam por toda a parte. Reconhecendo a inevitabilidade, Musa estudara os escritos apocalípticos do islão e os hádices — as palavras atribuídas ao profeta Maomé — que falavam dos Últimos Dias, quando Isa, a quem os cristãos chamavam Jesus, regressasse.
Fechou os olhos e recitou em silêncio um hádice apocalíptico que apreciava em particular: «Em breve, o Filho de Maria descerá entre vós como um juiz justo. Quebrará a cruz e matará os porcos.» Ao contrário da visão cristã do fim do mundo, a crença islâmica ditava que Jesus renunciaria aos cristãos, aliando-se aos muçulmanos. Destruiria a crença em si próprio ao destruir a cruz e proibindo a carne de porco como alimento, tal como ditava a lei islâmica.
Além disso, Jesus não regressaria sozinho.
A preceder o seu tumultuoso regresso, a humanidade assistiria à chegada de um décimo segundo imã, um califa divino descendente de Maomé, que eliminaria a injustiça, defrontaria Satanás e purificaria o mundo com fogo.
A figura chamava-se Mádi, cujo nome significa o guiado.
Ao longo de séculos, muitos homens — falsos profetas — se tinham apresentado como o décimo segundo imã, mas Musa conhecia a verdade. Sabia com certeza absoluta que apenas um seria capaz de purgar o mundo. A descoberta na Gronelândia — durante o reinado do quadragésimo oitavo Musa — constituía prova suficiente.
Vou encontrar os portões do Inferno, roubar a chama de Satanás e purificar o mundo com fogo.
Então, o seu título mudaria para sempre.
De Musa para Mádi.
Sempre sentira essa certeza nos ossos: esse era o seu verdadeiro destino.
O telemóvel tocou e vibrou no bolso. Esperava aquela chamada, o que foi confirmado quando ouviu a voz no outro lado da linha.
— Estimado Musa, o nosso avião acabou de aterrar — declarou Bint Musa. Falava em árabe, como era habitual no seio do grupo e em respeito pelos antepassados. — Vamos a caminho da Casa da Sabedoria.
— Muito bem. O mapa está seguro? A arqueóloga?
— Sim, porém, como vos informei, não conseguimos recuperar a Chave de Dédalo.
Musa apercebeu-se da angústia no tom da sua voz. Um falhanço daqueles seria normalmente punido. Em todo o caso, aquela Filha conseguira muito e sofrera perdas horríveis. Conceder-lhe-ia misericórdia e esperança.
— Nada receies, minha Filha, obteremos a Chave de Dédalo. Os planos estão em movimento.
Ouviu-se um suspiro de alívio.
— Fico grata por ouvir tão gloriosas notícias.
— Encontramo-nos na Casa da Sabedoria à meia-noite.
Musa desligou o telefone, pronto para concluir o último compromisso em Ancara. A limusina virou para a avenida Atatürk e percorreu a alameda arborizada até chegar a um muro de pedra com portões altos. Uma bandeira americana decorava a entrada da embaixada dos Estados Unidos. Guardas flanqueavam os portões.
A limusina encostou ao passeio e Musa saiu. Música clássica escapava-se do pátio do complexo, onde decorria uma festa. O chefe de missão da embaixada aproximou-se com a mão direita estendida.
— Hos geldiniz — cumprimentou ele em turco. — Embaixador Firat, ainda bem que se encontrava na cidade. É um prazer recebê-lo na nossa festa.
— O prazer é todo meu — retorquiu Musa, apertando a mão do homem. — Como embaixador no vosso lindo país, como poderia recusar o convite?
Acompanhado pelo chefe de missão, Musa cruzou os portões da embaixada. Caminhava agora em território estrangeiro dentro do seu país.
Em breve, fronteiras como estas serão reduzidas a cinzas.
Do pátio, lançou um último olhar à limusina, ocupada pelos seus Filhos e Filhas. Virou-se, sorridente, sabendo que outros elementos da família preparavam já o passo seguinte do plano.
Recuperar a Chave de Dédalo.
12
22 de junho, 22h04 CEST
Arredores de Roma, Itália
Kowalski franziu o sobrolho e endireitou-se no assento quando o Land Rover abandonou a autoestrada que circundava Roma e seguiu para sudoeste. Deixando para trás o brilho da cidade, o SUV acelerou na direção de um punhado de colinas negras, pontilhadas com as luzes dispersas de pequenas aldeias. Um trovão retumbou das terras altas, lembrando a detonação de um canhão à distância.
— Para onde vamos? — perguntou do banco traseiro, desviando o olhar das luzes de Roma. — Pensava que íamos para onde o papa vive.
— E vamos — suspirou Maria, sentada ao seu lado.
— Mas não vive no Vaticano? Em Roma?
— Sim. Mas, como te disse, estamos a caminho do palácio de verão do papa, em Castel Gandolfo, vinte e poucos quilómetros a sul de Roma. Fica naquelas colinas. É para onde o diretor Crowe quer que levemos o astrolábio e onde nos vamos encontrar com o padre Bailey e monsenhor Roe.
Kowalski recostou-se, demasiado cansado para insistir no assunto. Não era homem de prestar atenção a pormenores, menos ainda depois de dias como aqueles, em que mal pregara olho. Felizmente, Maria estava presente na videochamada com o diretor. Quando puderam finalmente abandonar a Gronelândia, a forte tempestade de vento extinguira-se e o destino seguinte alterara-se. Em vez de regressarem aos Estados Unidos, receberam ordens para levarem o astrolábio para Itália. Ninguém lhes explicou porquê, mas eram as ordens. O único aspeto positivo a retirar da mudança de planos tinha sido o desagrado de Pullman. O comandante do Poseidon não ficara nada satisfeito por ser forçado a abandonar a busca pelo submarino e regressar ao papel de motorista Uber dos céus.
Vinte minutos antes, o jato aterrara nos arredores de Roma, na base aérea de Guidonia, da força aérea italiana, e Pullman quase os empurrara do avião.
A mim, pelo menos.
Um Land Rover preto, identificado com a palavra CARABINIERI, aguardava na pista. O condutor, um jovem polícia militar chamado Reynaldo, vestia um uniforme azul da marinha, com uma boina a condizer. Kowalski lançara um olhar invejoso à Beretta 92 que o militar trazia num coldre à cintura. Sem armas, sentia-se despido.
Sentado na terceira fila de assentos do SUV, Douglas MacNab inclinou-se para a frente.
— Maria, quando é que os seus companheiros chegam?
— De madrugada — retorquiu ela.
Kowalski sentiu uma ponta de irritação ao ser lembrado daquele pormenor. Era como se o diretor Crowe não confiasse nele e tivesse de enviar reforços para lidar com a situação.
Subitamente preocupado, olhou por cima do ombro, certificando-se de que o climatologista não se esquecera do mais importante durante o desembarque apressado do avião. Ficou aliviado ao ver a maleta cinzenta pousada ao lado de Mac. Por causa da radioatividade, o astrolábio tinha de ser transportado naquela maleta forrada a chumbo, que exibia uma etiqueta de perigo amarela e vermelha, destinada a dissuadir os mais curiosos de a abrirem.
Em todo o caso, o climatologista não ia perder o astrolábio de vista. Ele insistira em acompanhar o artefacto, e as razões que apresentara eram congruentes: O meu amigo morreu por causa disto, dissera, e a Elena foi raptada quando estava sob a minha responsabilidade. Até saber o que se passa, esta coisa não vai a lado nenhum sem mim.
Para Kowalski, era-lhe igual ao litro. O climatologista podia ter dito apenas que a descoberta era dele. Em todo o caso, apreciava a determinação do homem e a vontade de descobrir a verdade. Desejava, porém, que essa mesma determinação não o matasse.
O Land Rover continuou a serpentear por uma estrada secundária, abrandando a marcha sempre que atravessava uma povoação. Quando deixaram para trás uma localidade chamada Frattocchie, a tempestade de verão abateu-se finalmente sobre eles. Num momento, a estrada estava seca, depois, ao virar de uma curva, a chuva começou a cair impiedosamente, fustigada por vento forte. As gotas pesadas martelavam o tejadilho do jipe. As escovas do para-brisas lutavam para afastar a cortina de água.
— Parece que o mau tempo não nos larga — constatou Mac.
Maria consultou o mapa no telemóvel.
— Estamos a três quilómetros de Castel Gandolfo. Não falta muito.
A tempestade continuou a piorar e a visibilidade tornou-se praticamente nula. Reynaldo praguejou e levantou o pé do acelerador. Em boa hora o fez. À saída da curva seguinte, depararam-se com um camião de transporte de madeira atravessado na estrada, com as luzes de emergência ligadas. O militar travou a fundo, evitando a colisão.
Não vamos lá chegar tão depressa, pensou Kowalski.
Com o Land Rover imobilizado, Reynaldo praguejou novamente em italiano e abriu a porta do condutor.
— Fiquem no carro. Vou ver qual é o problema.
Mal o militar pôs um pé na estrada, a janela da porta do condutor explodiu. O corpo do italiano foi arremessado para trás por uma chuva de balas. Três homens vestidos de preto e armados com espingardas surgiram de trás do camião e correram na direção do jipe.
Kowalski já se encontrava em movimento. Empurrou Maria para baixo, saltou do banco traseiro e sentou-se ao volante. Manteve a cabeça baixa e esquivou-se à nova saraivada de tiros que perfurou o para-brisas. Sem se dar ao trabalho de fechar a porta do condutor, engatou a mudança e pisou no acelerador. Os pneus derraparam no alcatrão e o Land Rover disparou a toda a velocidade.
O jipe embateu contra o camião, atingindo e esmagando dois dos atiradores. O terceiro desviou-se. Kowalski sabia que dispunha de segundos até que o maldito tivesse oportunidade de retaliar. Engatou a marcha-atrás e arrancou.
Pelos espelhos retrovisores, viu duas motas irromperem de outra estrada. Os passageiros das motos ergueram as metralhadoras, enquanto os pilotos encurtavam a distância, tentando impedir a fuga.
Não esperava outra coisa...
Kowalski pisou o travão, imobilizando o jipe ao lado do corpo caído do militar. Esticou-se pela porta aberta e lançou uma das mãos ao coldre do italiano, a fim de lhe sacar a Beretta. Pegou na pistola e voltou a endireitar-se.
Está na hora de acertar contas.
Segurando a arma com as duas mãos, pisou novamente o acelerador. O Land Rover arrancou outra vez em marcha-atrás. Kowalski fez pontaria ao atirador junto ao camião, que se encontrava já de pé. Disparou duas vezes através do para-brisas partido. O corpo do atirador foi sacudido duas vezes com o impacto dos projéteis, que lhe acertaram em cheio no peito.
Enquanto o homem caía na estrada molhada, Kowalski continuou a acelerar.
— Não se levantem! — gritou para Maria e Mac.
Sem alternativa diante do avanço do jipe, as motos desviaram-se, uma para cada lado. Pela janela do condutor, Kowalski disparou contra os atacantes do lado esquerdo. As balas faiscaram contra o metal da moto. O passageiro caiu para trás. O piloto foi incapaz de se manter na estrada, a roda da frente bateu num pedregulho na berma e a moto foi catapultada pelo ar, chocando com estrondo contra uma árvore.
O outro piloto foi mais hábil, fez um pião no meio da estrada e lançou-se em perseguição. O passageiro abriu fogo, forçando Kowalski a baixar-se.
No entanto, o atirador não tentara atingi-lo.
O pneu direito da frente rebentou, lançando o jipe num pião desgovernado. Kowalski largou a pistola e agarrou o volante com as duas mãos. As luzes de aviso no tabliê piscaram como lâmpadas numa árvore de Natal. Mais por força de vontade do que pela aderência dos pneus, Kowalski recuperou o controlo do Land Rover. Com a frente virada na direção contrária, acelerou e pôs-se em fuga, perseguido pela moto.
Kowalski ainda acreditou que conseguiria fugir, mas um segundo camião materializou-se por entre a chuva, atravessando-se também no meio da estrada. Como se não bastasse, um SUV preto contornou-o e acelerou direito ao Land Rover.
Estes filhos da mãe estão a aparecer de todos os lados...
— Não vamos conseguir! — gritou Maria.
O tanas!
Kowalski guinou o volante, atirando o Land Rover da estrada para um campo aberto. Infelizmente, a chuva torrencial transformara o terreno num pântano. Com três pneus bons, Kowalski lutou o melhor que podia contra a lama, mas não demorou até que o jipe ficasse atolado.
Kowalski praguejou e espreitou pelo retrovisor. Ficou mais aliviado ao perceber que o SUV inimigo não conseguira fazer melhor naquele terreno. Na verdade, saíra-se pior. O condutor cometera o erro de tentar seguir na esteira dos pneus do Land Rover. A lama revolvida, muito mais traiçoeira, enterrou o veículo até à altura dos eixos.
Um grupo de homens abandonou o SUV.
Outros tantos corriam da estrada.
— Vai ser uma corrida a partir daqui — disse Kowalski. — Saiam!
Enquanto abandonava o jipe, Maria deteve-se, de boca aberta.
— Oh, não!
Kowalski virou-se. Ao lado de Maria, Mac arrastou-se para fora do jipe com um esgar de dor e agarrado ao ombro esquerdo. O sangue escorria pelo peito mais depressa do que a chuva conseguia lavá-lo. O climatologista fora alvejado durante o tiroteio, mas não dissera uma palavra.
Maria tentou ajudá-lo.
Mac afastou-a e acenou com a cabeça na direção da porta aberta do jipe.
— A mala...
Maria anuiu e pegou na maleta cinzenta. Uma nova saraivada de tiros retalhou a traseira do Land Rover.
Kowalski apontou na direção da linha de árvores mais à frente. Rezou para que fosse uma floresta onde pudessem despistar os atacantes.
— Vamos!
Correram pelo terreno alagado com os pés a afundarem-se na lama. Tentaram manter o jipe entre eles e os atacantes, mas aquela fraca barreira de proteção não os resguardaria das balas muito tempo. Alcançaram a linha de árvores e procuraram abrigo, mas a sorte não estava do seu lado. As árvores eram pinheiros grossos, dispostos de forma compacta, mas aquilo não era uma floresta, longe disso.
Para lá dos pinheiros, o terreno descia na direção de um lago emoldurado por falésias vulcânicas. Mais perto, um aglomerado de luzes assinalava a localização de uma povoação.
— Aquilo é Castel Gandolfo — disse Maria. — Por cima do lago Albano.
Tão perto e tão longe...
— Mais um bocadinho e conseguia — gemeu Mac. Era óbvio que aquilo era o fim da linha para ele. Chegar até ali custara-lhe o resto da energia, para não falar do sangue.
Maria fitou-o, consternada. Depois, virou-se para Kowalski.
— Tu consegues — disse.
— Consigo o quê? — perguntou Kowalski, embora soubesse a resposta.
Maria estendeu a mão com a maleta.
— Tens de levar isto. És o único capaz de lá chegar.
— Não te deixo aqui!
— Se for contigo, vou atrasar-te e eles apanham-nos. Além disso... — Maria desviou o olhar para Mac. — Não sou capaz de o deixar aqui a esvair-se em sangue.
Kowalski sabia que Maria estava certa e sabia que ela nunca abandonaria alguém em perigo de vida. Mesmo assim, recusava-se a aceitar a ideia de deixá-la.
Maria apontou para o fundo da ravina, na direção de uma coluna de vapor, onde um pequeno riacho corria na direção do lago.
— Há ali uma caverna, provavelmente uma nascente térmica. Nós escondemo-nos e tu corres para a aldeia.
Ouviram-se gritos. O inimigo aproximava-se.
Kowalski fitou Maria, com o coração a martelar-lhe nos ouvidos. Depois, fez a única coisa que podia. Pegou na maleta.
22h48
Maria e Mac encolheram-se no vapor quente da pequena caverna. Ela cerrou os dentes ao ouvir vozes e passos à esquerda, mas nenhum atacante reparou no esconderijo.
As atenções do inimigo pareciam focadas em Joe. Maria avistou a silhueta dele a descer a ravina, usando os arbustos e as rochas disponíveis para se esconder. Um pequeno riacho borbulhava desde o fundo da caverna e passava entre ela e Mac. O climatologista ferido abraçava os joelhos, fazendo o possível por caber naquele espaço exíguo. Apesar do calor, tremia. Dificilmente não entraria em choque devido à perda de sangue e à dor.
Ouviam-se sirenes a ecoar das colinas, um sinal de que a polícia respondera ao tiroteio. Maria rezou para que os atacantes também as ouvissem e que isso os levasse a desistir. Acima de tudo, queria pedir ajuda. Tinha o telemóvel na mão, pronta para avisar as autoridades de Castel Gandolfo da fuga desesperada de Joe e pedir auxílio médico para Mac.
Mas tinha de esperar.
Precisava de se certificar de que ninguém a ouvia ou via o brilho do ecrã do telemóvel. Como tal, esperou que os perseguidores descessem a caldeira vulcânica. Assim que deixou de ver Joe e o inimigo, ergueu o telefone.
— Será que ele vai conseguir? — murmurou Mac.
— Se alguém é capaz de fazer isto, esse alguém é o Joe. Caso contrário...
Maria recusou-se a pensar no pior. Sentia-se demasiado culpada, demasiado assustada. Perscrutou novamente a escuridão e a chuva para lá do vapor da caverna, à procura de um sinal de Joe.
O que é que eu fiz?
22h49
Quase a cuspir os pulmões pela boca, Kowalski cambaleou pela encosta de ervas e rocha até se deparar com um trilho de gravilha. Fez um compasso de espera, a segurar a maleta contra a coxa. Encheu o peito de ar e preparou-se para mais uma corrida. Do outro lado do trilho, talvez a uns cinquenta metros, avistou o reflexo das águas do lago Albano, a chuva grossa a apedrejar a superfície negra.
O caminho de gravilha, provavelmente parte de um trilho de caminhada em torno do lago, estendia-se à esquerda na direção das luzes de Castel Gandolfo.
Não posso parar...
Arrancou de novo, mais revigorado por saber que desviara o inimigo de Maria e Mac. Naquele momento, toda a gente corria atrás daquela maldita bola. Em todo o caso, se aquilo fosse um jogo de futebol e ele um jogador, certamente seria mais talhado para defesa central. O seu corpanzil era bom para derrubar adversários, não tanto para correr para a baliza.
Vendo bem, os defesas também marcavam golos.
Determinado a provar isso mesmo, que seria capaz de marcar um golo pela equipa, correu mais depressa pelo trilho. Mais à frente, conseguia já distinguir o recorte de janelas, muralhas e telhados.
Eu consigo fazer isto.
No mesmo instante, o mundo explodiu num clarão de luz. Apanhado de surpresa e cego, derrapou pela gravilha até parar e se encontrar no meio de um turbilhão de vento, como se tivesse sido apanhado por um tornado.
Mas aquilo não era um tornado.
Foram disparados tiros do céu. As balas cravejaram o trilho de gravilha enquanto ele tentava proteger os olhos da luz forte. Ergueu a cabeça e viu o helicóptero pairar acima dele. Ao que parecia, o inimigo convocara mais reforços e nada menos do que apoio aéreo. Fitou outra vez a luz, consciente de que aquele defesa fora travado a poucos metros da baliza.
Deixou-se cair de joelhos, pousou a maleta no chão e levantou os braços.
Numa questão de segundos e apesar do troar dos rotores, ouviu o som de botas a correr na gravilha. Olhou por cima do ombro e recebeu uma violenta coronhada no nariz. Ossos estalaram e os olhos cegaram com um clarão vermelho de dor. Ao tombar para o lado, a queda foi acompanhada por uma escuridão mais profunda que a noite.
Lutou para se manter consciente, mas era como se continuasse a cair.
Sentiu a força do vento aumentar à medida que o helicóptero descia para recolher o prémio. Sirenes ecoaram à distância, mas sabia que ninguém o ajudaria a tempo. O inimigo também as ouviu. Houve um agitar de sombras em redor, gritaram-se ordens em árabe.
Mais perto, alguém pegou na maleta.
Ele tentou segurá-la, mas o seu braço foi afastado com um pontapé. Incapaz de continuar a manter a cabeça erguida, deixou cair o rosto na gravilha. Saboreou o sangue, cheirou-o. O próprio mundo tornara-se vermelho, mas ainda teve forças para ver o suficiente.
A maleta foi destrancada e aberta.
A surpresa de encontrar o interior vazio arrancou-lhe uma gargalhada dorida.
És demasiado esperta para mim, Maria...
23h04
Maria baixou o telefone e viu o helicóptero subir no céu e voar para longe. De repente, não conseguia respirar. O peito elevava-se, mas o ar não lhe chegava aos pulmões. Usara a última réstia de força para ligar a Painter e relatar-lhe o que acabara de acontecer. O diretor estava já a reunir forças na região, mas era demasiado tarde... demasiado tarde para um deles, pelo menos.
Joe...
Maria ouvira o tiroteio e receava que o pior tivesse acontecido.
O que foi que eu fiz?
Aquela pergunta tornara-se um mantra desde que enviara Joe naquela corrida desenfreada. Não lhe contara o verdadeiro plano, dado que precisava que ele acreditasse que levava o astrolábio na maleta. Queria que Joe corresse com todas as forças, quer para atrair os atacantes, quer para garantir a própria sobrevivência. Se ele chegasse a Castel Gandolfo, estaria a salvo, juntamente com o artefacto.
Porém, se não conseguisse...
Abriu o blusão e fitou o astrolábio pousado no colo. Enquanto fugiam para as árvores, retirara-o da mala e guardara-o no bolso. A sua especialidade científica era a ciência comportamental, sobretudo dos primatas, mas sabia que podia usar os mesmos princípios naquela situação. Tinha a certeza de que o inimigo perseguiria Joe. Dar caça a uma presa em fuga era o instinto natural de um predador.
Portanto, utilizara essa circunstância a favor dela.
Infelizmente, esse conhecimento não atenuava a culpa.
Respirou fundo, tentando libertar-se do peso que lhe esmagava o peito.
Perdoa-me, Joe...
13
23 de junho, 05h30 CEST
Castel Gandolfo, Itália
Gray atravessou a praça vedada. Mais à frente, erguia-se um edifício amarelo de quatro andares, com as janelas fechadas e um par de imponentes portas de madeira. O pórtico assinalava a entrada do Palácio Pontifício, a residência de verão do papa. Quando o chefe da Igreja Católica não se encontrava presente, o palácio funcionava também como museu.
Naquele dia, porém, isso não se verificava.
Depois do ataque da noite anterior, o palácio tinha sido convertido numa fortaleza. A própria vila de Castel Gandolfo — com as pitorescas ruas calcetadas, as lojas de recordações e os pequenos cafés — encontrava-se sitiada. Os veículos militares alinhavam-se ao longo das ruas. Guardas com coletes à prova de bala e capacetes patrulhavam a praça fechada. Os homens pertenciam à Gendarmeria Corpo della Città del Vaticano, a força policial da cidade-estado, e eram treinados não só para investigar crimes, mas também como operacionais de contraterrorismo. À semelhança da cidade do Vaticano, os cem hectares do palácio de verão não eram território italiano. Pertenciam ao papa.
Gray e Seichan tiveram de exibir as identificações em dois postos de controlo. À entrada da praça, foram revistados fisicamente e com um detetor de metais.
Quando alcançaram o pórtico, um homem de fato azul-escuro mandou-os aproximar e pediu-lhes outra vez as identificações. Pelo semblante inexpressivo e os músculos firmes realçados pelo fato à medida, o homem também era militar. Estava acompanhado de outros dois, todos eles equipados com rádios auriculares. Gray reparou nas metralhadoras compactas Heckler & Koch MP7 semiescondidas pelos casacos e nas pistolas SIG P320.
Os homens não envergavam os tradicionais uniformes com riscas azuis, vermelhas e amarelas, mas Gray sabia quem eram aqueles soldados dedicados. Guarda Suíça. Em todo o caso, não eram guardas comuns. Apenas os membros de elite podiam trajar à civil, ou seja, aqueles homens pertenciam ao corpo de agentes mais próximo do papa, o equivalente aos serviços secretos.
Enquanto aguardava de braços cruzados, Gray observou a praça. Começara a amanhecer, mas o Sol permanecia escondido. Apesar da forte presença militar, os seus olhos procuraram qualquer sinal de ameaça. Respirou fundo. Não gostava de estar parado. Aqueles bloqueios constantes irritavam-no. Sobretudo depois de um longo voo e de uma igualmente longa viagem de carro desde a base aérea.
Seichan tocou-lhe no braço.
— Ele está bem — disse, compreendendo a razão da agitação dele. — Vais ver.
Durante a viagem, Gray recebera atualizações constantes das buscas por Kowalski. Não tinha sido encontrado nenhum corpo no local onde o companheiro fora emboscado. Apenas sangue e invólucros de balas. Naquele preciso momento, equipas de mergulhadores prosseguiam as buscas nas águas verde-escuras do lago vulcânico, à procura de um cadáver.
O guarda devolveu as identificações.
— Sou o major Bossard — disse, com um forte sotaque suíço. — Irei acompanhá-los. Enquanto estiverem em território do Vaticano, não estão autorizados a sair da minha vista, entendido? Vamos, sigam-me.
O major conduziu-os pelas portas e Gray e Seichan entraram no Palácio Pontifício. Foram apressados ao longo de corredores de mármore decorados com bustos de papas e através de um luxuoso salão de visitas com mobiliário antigo. Gray reparou nos cordões de veludo que delimitavam várias áreas, um sinal de que aqueles eram os espaços por onde os turistas circulavam.
Mas ele não estava ali para fazer turismo.
Bossard conduziu-os finalmente através de um conjunto de portas para uma varanda larga com vista para um labirinto de sebes meticulosamente bem cuidado. Os terrenos do palácio eram maiores do que a cidade do Vaticano, abrangendo não só o palácio e os majestosos jardins, mas também uma pequena floresta que escondia um anfiteatro romano e uma quinta de animais com setenta e cinco hectares.
Havia uma mesa posta na varanda, que permitia usufruir das magníficas vistas. As três figuras que tomavam o pequeno-almoço levantaram-se.
Maria Crandall correu para os dois e abraçou Seichan
— Ainda bem que chegaram! — disse, nitidamente emocionada.
O padre Bailey aproximou-se e apertou a mão de Gray. O seu olhar não exibia o habitual brilho divertido que o caracterizava, apenas uma determinação sombria.
— Bem-vindos. Faço minhas as palavras da doutora Crandall.
Monsenhor Roe permaneceu junto à mesa e limitou-se a acenar com a cabeça. O sacerdote despira as vestes formais e apresentava-se de calças de ganga, camisa preta abotoada e um casaco leve para o proteger do ar fresco da manhã.
Gray apercebeu-se de que faltava uma pessoa.
— E o doutor MacNab, como está ele?
— Ainda a recuperar — respondeu Maria. — Encontra-se numa enfermaria numa das vilas pontifícias. Perdeu muito sangue, mas o ferimento não foi tão grave como se pensava.
— E Kowalski, houve mais novidades? — perguntou Seichan.
Embora bem-intencionada, a pergunta teve um efeito imediato em Maria, que cruzou os braços e baixou o olhar.
— Continuamos sem saber nada — murmurou.
— Melhor assim. É sinal de que continua vivo — concluiu Gray.
Maria virou-se para ele.
— Como assim?
— Com a pressa com que os atacantes tiveram de fugir, se o tivessem matado, o corpo dele teria ficado onde caiu. Não havia razão para levarem ou esconderem o cadáver. Se queres que te diga, estou convencido de que a tua artimanha lhe salvou a vida.
Maria endireitou as costas, nitidamente a necessitar de ser tranquilizada.
— Porque dizes isso?
— Se eles tivessem recuperado o astrolábio, quer no ataque na estrada, quer mais tarde no trilho, tenho a certeza de que vos teriam matado a todos, incluindo o Kowalski. Em vez disso, quando encontraram a mala vazia, tiveram de o levar. Eles vão querer interrogá-lo. É a única forma de se manterem em jogo.
— Como podes ter a certeza disso?
Gray encolheu os ombros.
— Porque é o que eu faria no lugar deles.
Maria descruzou os braços. Parte do receio evaporara-se do rosto, mas a sensação de culpa persistia.
— Como é que aqueles filhos da mãe sabiam que vínhamos a caminho?
Boa pergunta.
Gray virou-se para o padre Bailey.
— Porque estamos aqui? Porque é que o astrolábio tinha de ser entregue aqui, no palácio do papa?
Bailey acenou na direção da mesa.
— É melhor sentar-se e comer qualquer coisa.
Gray agarrou-lhe no braço.
— Fiz-lhe uma pergunta, padre.
O major Bossard deu um passo em frente, a mão apoiada no punho da pistola.
Bailey fez sinal ao militar, indicando-lhe que não interviesse.
— Estamos aqui porque monsenhor Roe pediu — respondeu. Libertou-se da mão de Gray. — Agora, se fizer o favor de se sentar connosco, talvez ele lhe possa explicar.
Gray suspirou, contrariado, mas seguiu o padre até à mesa.
Enquanto todos se sentavam em volta de travessas com ovos mexidos, pão acabado de fazer, doces e bolos variados, monsenhor Roe lançou um olhar comprometido ao grupo.
— Perdonami — disse. — Vendo bem as coisas, talvez a escolha deste local não tenha sido apropriada.
— A culpa não é sua — retorquiu Gray. — Só quero saber porque nos chamou aqui.
Roe suspirou, visivelmente a tentar ordenar os pensamentos.
— Já ouviram falar do Santo Scrinium?
Gray franziu o sobrolho perante a estranheza da pergunta. Abanou a cabeça. Nunca ouvira aquele termo.
Roe explicou.
— A primeira biblioteca do Vaticano foi oficialmente fundada em 1475. Mais tarde, no século dezassete, o papa Leão XII transferiu as obras mais importantes para um repositório separado, o Archivio Segreto Vaticano.
— O Arquivo Secreto do Vaticano — disse Gray.
O monsenhor anuiu.
— Sì, mas antes de existir a Biblioteca do Vaticano e muito antes dos Arquivos Secretos, existia o Santo Scrinium. Foi fundado no século quatro pelo papa Júlio. Acompanhou todos os papas que lhe sucederam. Continha livros e documentos teológicos que remontavam ao início do cristianismo.
Gray conseguia adivinhar o que Roe estava a tentar dizer.
— E esta biblioteca pessoal ainda existe.
O monsenhor anuiu novamente.
— É o verdadeiro arquivo secreto da Igreja.
Bailey inclinou-se para a frente.
— Monsenhor Roe é o prefeito do Scrinium. O responsável oficial.
Roe explicou a importância do cargo.
— O Santo Scrinium contém tesouros demasiado raros e importantes para serem partilhados. Demasiado heréticos para serem mostrados, até mesmo demasiado perigosos.
Gray olhou por cima do ombro, para a fachada amarela do palácio que o sol nascente pintara com matizes de ouro e rosa.
— Está a dizer que o Santo Scrinium se encontra aqui escondido?
— Mais ou menos — respondeu Roe.
06h04
Para onde vamos?
Seichan seguiu os outros ao longo do terraço do Palácio Pontifício. Daquele ponto elevado, a vista panorâmica alcançava toda a extensão do lago Albano, as colinas circundantes cobertas de florestas e as encostas vulcânicas. Uma brisa fresca soprava do lago, transportando um agradável aroma de laranjas e alfazema.
Não admira que os papas escolham este sítio para fugir ao calor de Roma.
Parte da vista estava obstruída por um par de gigantescas cúpulas prateadas, dois observatórios astronómicos.
— Hoje em dia, estes observatórios são essencialmente peças de museu — explicou o monsenhor a Gray. — As novas unidades foram instaladas a pouco mais de um quilómetro a sul, num antigo convento, onde estamos a concluir um programa escolar de verão de astronomia e física. Uma prova de que a ciência é, e sempre será, uma parte importante da vida religiosa aqui.
Gray e o monsenhor caminhavam à frente de Seichan, acompanhada por Maria. O major Bossard ia mais atrás.
Não há dúvida de que este tipo não tenciona perder-nos de vista.
Ao contornar uma chaminé, Seichan sentiu os seios cheios e pesados, um lembrete constante das responsabilidades que deixara para trás. Já tinha ligado três vezes a Kat, a fim de se certificar de que Jack estava bem, se estranhara a sua ausência, se comia o suficiente, e assim por diante.
O Monk está feliz, respondera Kat. Há anos rodeado de mulheres, tem finalmente outro homem em casa. Acreditas que comprou uma luva de basebol ao Jack? Não sei, acho que não vais ter o miúdo de volta tão depressa.
Apesar das palavras da amiga e da certeza de que Jack estava bem, Seichan não conseguia evitar sentir-se culpada. Não tanto pelo «abandono» de Jack, mas pela excitação que tomara conta dela. Depois de nove meses de gravidez e outros cinco a cuidar do bebé dia e noite, esquecera-se de como era estar sozinha. Pela primeira vez no que lhe parecia terem sido anos, sentia-se ela própria, a Seichan que sempre conhecera.
Pelo menos, até os seios lhe darem aquele sinal de que precisaria de usar a bomba do leite em breve, recordando-a de que se encontrava ainda fisicamente ligada a outro ser.
Isto é só uma pausa.
Antes que pudesse matutar mais sobre o assunto, o grupo alcançou finalmente umas escadas que conduziam a uma porta numa das cúpulas.
Enquanto subiam os degraus, Gray estudou a gigantesca estrutura.
— Não percebo. O que tem um observatório que ver com uma biblioteca secreta?
— Na verdade — explicou o monsenhor —, existe aqui uma biblioteca desde o início do século vinte, quando o papa Pio X transferiu algumas obras de interesse astronómico que se encontravam no Vaticano. Entre elas, encontram-se alguns trabalhos originais de Copérnico, Galileu e Newton.
— Foi por isso que pediu que lhe trouxéssemos o astrolábio? — perguntou Maria. — Por causa dessas obras?
Roe olhou por cima do ombro.
— Infelizmente, não. Este não é o arquivo onde o astrolábio deve estar.
O monsenhor abriu a porta, o grupo passou por uma antecâmara e entrou no enorme espaço abobadado. O ar cheirava a óleo e, curiosamente, a limão. O enorme telescópio encontrava-se posicionado na direção da janela do observatório, que estava fechada. Todo o interior da cúpula era revestido a madeira.
Ao contornar o telescópio, Roe deu-lhe uma palmadinha, como se cumprimentasse um velho amigo.
— Este instrumento foi feito em 1935. Uma década antes de eu ter nascido. — Apontou para os pés. — Lá em baixo, numa das salas.
Seichan franziu o sobrolho.
— Está a dizer-nos que nasceu aqui? No palácio?
O monsenhor sorriu.
— Sim, sou um dos filhos do papa.
Confuso, Gray interveio.
— Não estou a perceber.
Roe lançou-lhe um olhar divertido.
— Durante a Segunda Guerra Mundial, o papa abriu o palácio aos que fugiam da ocupação nazi. Católicos e judeus. Mais de doze mil pessoas refugiaram-se aqui, incluindo mulheres grávidas. O quarto do papa transformou-se numa sala de partos. Cerca de cinquenta crianças nasceram na cama de Sua Santidade.
— Razão pela qual lhes chamam os filhos do papa — concluiu Gray.
Roe encolheu os ombros e continuou a conduzir o grupo.
— Não admira que eu continue a olhar para este lugar como a minha casa, não é verdade?
Quando chegaram ao outro lado da cúpula, o monsenhor parou diante de um painel de mogno branco na parede. Tirou do bolso um cartão magnético preto. Cada face do cartão exibia um símbolo prateado, uma coroa com duas chaves cruzadas.
O selo papal.
Embora os dois lados parecessem iguais, havia diferenças. Num lado, a chave mais escura estava virada para a esquerda; no outro, a chave estava virada para a direita. Os dois símbolos eram imagens em espelho um do outro.
Seichan trocou um olhar com Gray. Ambos conheciam o significado dos símbolos gémeos. Representavam uma fação secreta da Igreja Católica, a Igreja de Tomé. O padre Bailey era membro do grupo e monsenhor Vigor Verona também havia sido. Estes homens constituíam um punhado de eleitos que seguia os princípios de um texto gnóstico nunca incluído na Bíblia, o Evangelho de Tomé, cuja premissa fundamental era «procura e encontrarás». Aos olhos do grupo, a base dos ensinamentos de Cristo dizia que o homem nunca devia desistir de procurar Deus em todas as coisas e em si próprio.
Seichan não ficou surpreendida pela revelação.
Quem poderia ser mais indicado para guardar uma biblioteca secreta do que um membro de uma igreja secreta?
Roe inseriu o cartão numa ranhura oculta. O painel de mogno deslizou para um dos lados, revelando um elevador apainelado com a mesma madeira.
— Por favor — disse com um gesto largo. — Podem entrar.
O major Bossard ficou no mesmo sítio. Pelos vistos, aquela era uma ponte que o militar não estava autorizado a atravessar.
Com toda a gente no elevador, o monsenhor encostou o cartão a um leitor eletrónico. A porta fechou-se e a cabina começou a descer.
— Para onde vamos? — perguntou Gray.
— Ao encontro do passado — respondeu Roe. — A parte mais antiga do palácio data do século treze, mas calculo que tenham reparado no anfiteatro romano na floresta adjacente. O anfiteatro faz parte de um complexo maior, a vila do imperador Domiciano. O palácio foi construído sobre as suas ruínas. Estamos a caminho do velho sistema de poços e cisternas.
— E quantos anos têm as ruínas, ao certo? — perguntou Maria.
— Algumas partes foram construídas há dois mil anos.
— Por outras palavras, vamos ao encontro do início do cristianismo — disse Gray, aludindo à anterior afirmação de Roe acerca das obras preservadas naquela biblioteca secreta.
Monsenhor sorriu.
— Acho que dificilmente existiria um lugar mais apropriado para guardar o Santo Scrinium.
O elevador parou com um solavanco. A porta abriu-se e o grupo saiu para um espaço cavernoso. As paredes de tijolo formavam um círculo com mais de trinta metros de largura. O teto curvo era suportado por grossas arcadas de pedra iluminadas por projetores. Seichan reconheceu o estilo arquitetónico, semelhante ao fórum de Roma, mas também reparou na forma e no tamanho do espaço, em tudo semelhante ao observatório do palácio.
Maria também se apercebeu da semelhança.
— É idêntico ao observatório lá de cima, só que em pedra.
— O que está em cima é igual ao que está em baixo — disse Roe, sorrindo.
Gray lançou-lhe um olhar.
— Essas palavras são de Hermes Trismegisto na Tábua de Esmeralda.
— Esatto. Não podiam ser mais apropriadas, tendo em conta o que vou mostrar-vos. Venham, sigam-me.
Enquanto o grupo seguia o monsenhor, Seichan reparou nas três passagens que seguiam em direções distintas. A que se encontrava mais perto terminava numa gigantesca porta de aço. Fechaduras eletrónicas piscavam com luzes vermelhas, provavelmente protegendo tesouros milenares.
Contudo, o monsenhor conduziu-os por baixo de uma arcada até uma porta de mogno com trancas de ferro forjado. Puxou uma enorme argola de ferro e abriu a porta. O brilho tremeluzente do fogo cumprimentou-os, juntamente com um sopro de ar quente.
Para lá da ombreira, elegantes tapeçarias decoravam o que parecia ser uma pequena sala de leitura. Havia um punhado de secretárias, com candeeiros negros, ao longo das paredes. Quatro poltronas dispostas em círculo rodeavam um palanque de madeira, sobre o qual repousava um volumoso livro coberto com um pano de seda. Para lá do palanque, uma pequena lareira crepitava convidativa.
Havia também pessoas na sala.
O padre Bailey levantou-se de uma das poltronas. Abandonara o grupo momentos antes, obviamente para ir buscar qualquer coisa que seria apresentada naquela reunião nas entranhas do palácio.
Maria apressou-se a entrar.
— Mac...
O climatologista permaneceu sentado. Tinha o braço ao peito e o ombro envolto em ligaduras.
— Até que enfim que apareceram.
Maria foi ao encontro dele, pronta para fazer mil perguntas, mas o cientista assegurou-lhe que estava bem de saúde.
— Deram-me uns litros de sangue — disse, apontando para o braço. — Estou como novo.
Seichan fora alvejada vezes suficientes para saber que aquilo não era verdade. O esgar de dor que ele deixou escapar ao endireitar as costas confirmou essa certeza.
— Não podia perder esta revelação por nada, seja lá o que for — acrescentou ele.
Bailey franziu o sobrolho.
— O doutor MacNab é o único de nós que viu o mapa roubado do navio árabe. Precisamos da sua confirmação.
Gray aproximou-se, arrastando os outros consigo.
— Confirmação de quê?
Bailey virou-se e destapou o palanque. O que revelou não era um livro, mas um mapa dourado no interior de uma caixa de bronze.
Mac ficou boquiaberto. Levantou-se da poltrona, nitidamente em choque, a ponto de esquecer a dor dos ferimentos.
— Isso é o mapa que encontrámos no navio! — Acalmou-se o suficiente para se virar na direção do grupo. — Quero dizer, não é exatamente o mesmo. Este está em melhor estado. E falta-lhe o astrolábio.
A expressão de Gray ensombreceu. Começava a ficar farto de tantos segredos.
— De onde veio este mapa? Quem é que o fez?
Bailey encarregou-se de responder.
— O seu criador foi um notável cientista e artista.
Com receio de que a conversa azedasse, Roe deu rapidamente um passo em frente, interpondo-se entre Gray e Bailey.
— Este mapa foi feito por Leonardo da Vinci.
14
23 de junho, 06h43 CEST
Castel Gandolfo, Itália
Incrível...
Gray ouviu o relato de monsenhor Roe acerca de um encontro secreto entre o papa Leão X e Leonardo da Vinci, em Roma, e da descoberta do projeto de um mapa mecânico num livro de engenharia árabe do século nono. O seu olhar manteve-se cravado no misterioso artefacto, estudando os intricados pormenores de cada linha costeira recortada em ouro, de cada montanha e ilha. Calculava que o material que dava cor ao mar Mediterrâneo fosse lápis-lazúli. As florestas eram feitas de esmeraldas, e as caldeiras vulcânicas de rubis.
Debruçou-se mais um pouco sobre o mapa, fascinado pela sua beleza e mestria. Independentemente da sua origem e valor inestimável, compreendia que o seu verdadeiro valor residia na sua importância histórica e artística. Embora existissem desenhos, pinturas e cadernos de Da Vinci espalhados por museus do mundo inteiro, nenhum dos engenhos mecânicos do mestre italiano sobrevivera até aos dias de hoje, nem sequer as suas esculturas.
Em todo o caso, Gray não compreendia por que razão uma obra-prima daquelas fora escondida durante séculos. A sua importância era incalculável. Desviou por fim o olhar e, virando-se, fitou Roe com uma expressão acusadora.
— Porque é que isto está aqui? Escondido do mundo durante todo este tempo?
Roe ergueu a mão.
— Abbi pazienza. Posso explicar.
Paciência era algo que não restava a Gray. Tinham morrido pessoas por causa daquele mistério e, sem respostas, mais iriam morrer. Mesmo assim, conteve uma resposta brusca e permitiu que o sacerdote se explicasse.
— O papa Leão pediu a Leonardo que reproduzisse o mapa encontrado no livro árabe. De acordo com a descrição nos esquemas, o mapa, quando operacional, indicaria o caminho para o Inferno.
— Para o Tártaro — acrescentou Gray, lembrando-se da conversa que tivera com Painter.
Roe anuiu.
— Esattamente. A versão grega do Inferno. Porque tudo isto está relacionado com um período negro da história da Grécia.
— Como assim?
— Nos esquemas do mapa, encontrava-se um capítulo da Odisseia de Homero, o poema grego acerca de Odisseu e da sua difícil viagem de regresso a casa depois da Guerra de Troia. O capítulo em questão referia-se exatamente à passagem do herói pelo mundo subterrâneo.
Gray preparava-se para fazer uma pergunta, mas Roe lançou-lhe um olhar de aviso, à boa maneira de um professor que não queria ser interrompido.
— O mapa foi criado por um trio de estudiosos notáveis. Três irmãos que davam pelo nome de Banu Musa, os Filhos de Moisés. Estudaram na Casa da Sabedoria em Bagdade no século nono e depois disso foram responsáveis por quase duas dezenas de obras científicas e numerosos engenhos mecânicos. A base do seu trabalho teve origem nos livros que colecionaram depois da queda de Roma, importantes tratados científicos que recolheram por toda a Itália e Grécia. Para conseguirem essa vasta coleção, navegaram por todo o Mediterrâneo, provando também que eram excelentes navegadores e marinheiros.
Gray imaginou o grande navio árabe de dois mastros aprisionado no gelo.
Seria o seu navio?
— O objetivo dos irmãos era procurar os lugares mais tenebrosos da história e preservar o que lá pudessem encontrar. Aos poucos, ficaram obcecados por um período específico da história humana, quando todo o conhecimento do mundo esteve na iminência de ser destruído, uma página em branco nos livros, que até hoje permanece como um mistério.
— Que período é esse? — perguntou Maria.
— O período relatado nas duas grandes obras de Homero, a Ilíada e a Odisseia. Por causa delas, há quem chame à época o Período Homérico, mas o termo mais apropriado é a Idade das Trevas Grega. Estendeu-se ao longo de dois séculos, de 1100 a.C. a 900 a.C., e começou com uma guerra colossal que assolou toda a área do Mediterrâneo. Em bom rigor, podemos olhar para este conflito como a verdadeira Primeira Guerra Mundial. Quando terminou, três civilizações em três continentes caíram.
Gray sabia o suficiente de história para saber a quem se referia.
— Os gregos de Micenas na Europa, o Império Hitita no oeste da Ásia e os egípcios no norte de África.
Roe anuiu.
— As três caíram ao mesmo tempo, o que conduziu a dois séculos de caos e barbárie, que quase apagaram todas as conquistas do desenvolvimento humano. Assim sendo, não é de admirar que os três irmãos, esses saqueadores de civilizações perdidas, se interessassem por este período.
— E o que fizeram, ao certo? — perguntou Maria.
— Sobre isso posso apenas especular. Mas eles eram exploradores, detetives. Segundo as notas existentes nas margens dos esquemas, acreditavam que existira uma quarta civilização envolvida no conflito. Nos dias de hoje e graças a novos indícios da época, alguns estudiosos começam a chegar à mesma conclusão.
— Mas quem eram esses conquistadores desconhecidos? — perguntou Gray, cada vez mais intrigado.
— Isso é o que os irmãos queriam descobrir. Vasculharam a região à procura de pistas, de um único sinal dessa hipotética civilização que derrotara as outras três, trazendo consigo a Idade das Trevas, para depois desaparecer. Os irmãos acreditavam que os poemas de Homero eram uma peça importante do mistério. Que estas espantosas obras não relatavam mitos, mas acontecimentos reais.
Gray sabia que alguns estudiosos começavam a chegar às mesmas conclusões, dando como possível, por exemplo, que as terras imaginárias de Homero podiam ser lugares verdadeiros. Não apenas a cidade de Troia, mas muitas outras. Uma vez mais, os irmãos tinham-se antecipado ao mundo inteiro.
Se calhar, conseguiram até fazer muito mais do que isso.
— Está convencido de que os irmãos foram bem-sucedidos — disse Gray. — Que encontraram essa civilização perdida.
— Estou convencido de que eles acreditavam que sim. E seja por causa das descrições na Odisseia de Homero ou pelo que descobriram em lugar incerto, acreditavam que se tratava do Tártaro, a versão grega do Inferno.
Gray desviou o olhar para Mac, cuja expressão assombrada indicava que provavelmente estaria a lembrar-se do horror libertado no navio. De certeza que o climatologista concordaria com os três irmãos.
— E não foram apenas os irmãos que se convenceram de que tinham encontrado a entrada do Inferno — prosseguiu Roe. — O papa Leão também acreditou. Foi por isso que guardou este mapa no Santo Scrinium, considerando-o demasiado perigoso e herético. Os papas seguintes respeitaram a sua decisão ou simplesmente chegaram a uma conclusão idêntica. O que explica a razão de o mapa aqui estar há tanto tempo.
Gray esforçou-se por juntar as peças na sua cabeça.
— Portanto, depois de terem descoberto a dita civilização, os irmãos criaram este mapa com a sua localização exata. Mas como é que o mapa acabou na Gronelândia?
— Essa parte permanece um mistério — admitiu Bailey. — Talvez o navio tenha ficado preso no gelo ou talvez o tenham encalhado de propósito. — O padre apontou para o mapa. — Seja como for, isto é a única coisa que resta da descoberta. Na verdade, esta versão foi criada a partir de parte dos esquemas, dado que não se encontravam completos. Da Vinci teve de improvisar para conseguir concluir esta cópia.
— E não faltava apenas parte dos esquemas — acrescentou Roe. — O mapa original também funcionava com um combustível desconhecido. Chamavam-lhe Óleo de Medeia, em homenagem à feiticeira Medeia, sobrinha de Circe, que transformou os homens de Odisseu em porcos. Segundo o mito, este óleo esverdeado, armazenado em vasilhas estanques, era capaz de produzir uma chama inextinguível.
Mac caiu sentado na poltrona, pálido como a cal. Os seus olhos pareciam fitar o passado. Gray quase podia distinguir o fogo que ardia na recordação dos horrores vividos a bordo do antigo navio árabe.
— Isso é a descrição exata daquilo que testemunhei — disse Mac. — Esse maldito óleo parecia capaz de incendiar a própria água.
Roe anuiu.
— Acredito que se tratava de uma versão do Fogo Grego, uma nafta volátil misturada com cal viva, que nem a água era capaz de apagar. Porém, pelas palavras do doutor MacNab, suspeito que este óleo foi melhorado e era mais potente.
Se calhar, adicionaram-lhe um isótopo radioativo, pensou Gray, lembrando-se da radiação detetada no mapa original.
Bailey contornou o palanque.
— Também neste caso Da Vinci teve de improvisar uma solução para a ausência do combustível e encontrou esta solução. — O padre apontou para uma manivela manual num dos lados da caixa. — Funciona perfeitamente, com exceção de um pormenor importante.
— Que pormenor? — quis saber Maria.
— Como disse, os esquemas estavam incompletos. Na verdade, a página referente às especificações do astrolábio, a chave do mapa, foi parcialmente arrancada.
Arrancada?
Gray refletiu sobre esta informação.
— Acha que os esquemas podem ter sido intencionalmente danificados?
Maria lançou-lhe um olhar.
— Se tiveres razão, isso aumentaria a probabilidade de o navio ter sido encalhado de propósito.
Gray acenou afirmativamente com a cabeça.
— Como se alguém quisesse enterrar um segredo.
Os sacerdotes entreolharam-se, questionando-se.
Bailey franziu o sobrolho.
— Bom, mas tudo isso acabou de mudar.
O padre pegou numa caixa pousada numa das poltronas e abriu-a. Virou-se, segurando nas mãos o objeto que causara a morte de alguns e pusera Kowalski em perigo. O astrolábio de prata refletiu as chamas da lareira, parecendo tão dourado como o mapa. Bailey aproximou-se e depositou o artefacto esférico no respetivo encaixe com grande cuidado.
— Eu diria que alguma coisa mudou. — Agarrou na manivela. — Vejam.
Deu corda ao mecanismo e o grupo juntou-se em volta do mapa. Um pequeno barco ancorado na costa da Turquia fez-se ao mar, provavelmente puxado por ímanes escondidos por baixo da fina camada de lápis-lazúli. Gray susteve a respiração. No segundo seguinte, o barco parou e começou a rodar no mesmo sítio, como se tivesse perdido o rumo.
— É como eu esperava que acontecesse — disse Roe. — Sobretudo depois de ter visto as fotografias enviadas pelo doutor MacNab quando recuperou o astrolábio.
— Qual é o problema? — perguntou Mac. — Avariou-se?
— Não — disse Roe. — Apenas nos faltam peças-chave neste puzzle.
Gray recordava-se de Bailey ter dito o mesmo durante a videochamada no gabinete de Painter.
— Que peças? — perguntou.
Roe encarregou-se de responder.
— Se bem se lembra da nossa conversa acerca de astrolábios, existe uma diferença substancial entre a versão inicial, plana, e a versão posterior, esférica. Para um astrolábio plano funcionar corretamente, é necessário que seja construído tendo por base a latitude do local onde se encontra o fabricante do mesmo.
Bailey explicou melhor:
— Para que um astrolábio plano funcione em Bagdade, por exemplo, tem de ser feito com base na latitude dessa cidade. Depois disso, o utilizador desse astrolábio só poderá usá-lo dentro dessa latitude. Se quiser usá-lo em Paris, o engenho torna-se inútil.
— Mas um astrolábio esférico é um instrumento universal, e é essa diferença que o torna único e raro. — Roe fez sinal para Gray se aproximar. — Consegue ver estes buraquinhos na superfície?
Gray semicerrou os olhos. Havia minúsculas perfurações na metade superior da esfera. Duas dezenas delas, pelo menos. Cada uma encontrava-se assinalada com um símbolo. Gray calculou que houvesse outras tantas na metade inferior.
— Se inserirmos varetas nos buracos, podemos alterar a latitude de referência do astrolábio. Ou seja, movendo as varetas, reiniciamos o instrumento para que funcione em qualquer ponto do planeta. As vezes que quisermos. — Roe fitou o grupo. — Sem as varetas, este astrolábio não passa de uma esfera de metal.
Gray visualizou o barquinho de metal às voltas como uma barata tonta.
Mas as más notícias não ficavam por ali.
— E também não sabemos qual é o número certo de varetas para este astrolábio — acrescentou Bailey. — Tão-pouco onde devem ser colocadas. As combinações possíveis são quase infinitas.
Gray percebeu finalmente por que razão Bailey o convocara.
— Posto de outro modo, o astrolábio é a chave do mapa, mas as varetas são a chave do astrolábio. Se quisermos usar o mapa, precisamos de descobrir a combinação certa das varetas que ativam o astrolábio.
Bailey encolheu os ombros.
— E como não temos as varetas nem sabemos como usá-las...
Nada disto nos serve de nada.
O rosto de Mac convertera-se numa máscara de desânimo.
— Na Gronelândia, quando ativámos o mapa, o barquinho avançou um pouco mais. O que me faz pensar que pelo menos algumas varetas deviam estar no lugar. Talvez se tenham soltado quando o astrolábio caiu ou quando o apanhei.
— Nesse caso, não há nada a fazer — disse Gray. — Tentar encontrar as varetas no glaciar seria o mesmo que procurar um número incerto de agulhas num gigantesco palheiro gelado.
— E quais são as alternativas? — perguntou Maria.
Roe fitou Gray, nitidamente à espera de que ele tivesse uma resposta para o problema.
Gray abanou a cabeça.
— Sem as varetas...
Roe deu-lhe uma palmadinha no ombro e afastou-se.
— Foi o que eu calculei.
Mesmo assim, Gray passou os dez minutos seguintes a examinar o astrolábio de ponta a ponta. Recusava-se a aceitar que não havia nada a fazer. Sopesou diferentes possibilidades. Se as varetas estavam colocadas, podíamos analisar os buracos à procura de abrasões microscópicas, diferenças de cor na prata. Talvez conseguíssemos identificar os buracos certos. Depois, se fabricássemos varetas novas, talvez...
Uma violenta explosão à superfície fez estremecer a divisão subterrânea. E depois outra, e mais outra, em rápida sucessão.
O impacto da última foi forte o suficiente para partir os mosaicos do chão e derrubar Gray e os outros. A grade de proteção da lareira tombou e um tronco em chamas rebolou para cima do tapete, incendiando-o.
Gray levantou-se e correu na direção da porta.
— Fiquem aqui! — ordenou.
Irrompeu pela galeria cavernosa com Seichan atrás de si, que ignorara o seu aviso. No outro lado da cúpula de pedra, as portas do elevador permaneciam abertas. Um movimento no interior da cabina chamou-lhe a atenção. Um vulto caiu do teto do elevador e aterrou agachado.
Gray retesou os músculos.
Seichan sacou de um punhal, que de alguma forma conseguira passar pelos guardas nos postos de controlo.
O major Bossard saiu do elevador, correu pela galeria com o casaco enrolado nas mãos e depois desfez-se dele. Gray calculou que o militar devia ter usado o casaco para descer pelo cabo do elevador. A metralhadora, ainda pendurada ao ombro, balançava contras as ancas.
— Corram! — gritou Bossard.
Ouviu-se outro estrondo à superfície. Nas costas do major, a cabina do elevador foi projetada para fora do poço numa explosão de pedra, poeira e fumo. A cúpula de pedra fraturou-se num dos lados, secções do teto desprenderam-se e estilhaçaram-se contra o chão. Ato contínuo, a estrutura inteira começou a implodir.
— Um ataque aéreo! — exclamou o major assim que alcançou Gray e Seichan. — Estamos a ser atacados com mísseis!
Ouviram-se e sentiram-se mais explosões, umas perto, outras mais longe.
Bossard apressou os dois de volta para a sala de leitura, enquanto a cúpula ruía. O ar encheu-se de poeira.
— Estão a bombardear o palácio! — tossiu o major. — Sobretudo esta área!
Não duvido, pensou Gray. O motivo saltava à vista. Uma vez que não fora capaz de recuperar o astrolábio, o inimigo optara por não correr mais riscos. Se não podem ficar com ele, vão garantir que mais ninguém fica.
Gray juntou-se ao grupo e pôs toda a gente em movimento.
— Tragam o mapa e tudo o que possa ser importante. — Apontou na direção do túnel mais afastado da derrocada. — Temos de nos afastar o mais possível deste sítio.
Cada um fez o que lhe competia. Seguindo as indicações de Roe, o major fechou a caixa do mapa e ergueu-a em peso, revelando a sua considerável força física. Uns metros ao lado, enquanto Maria pegava nalguns livros, Bailey recolheu uma série de documentos espalhados em cima de uma das secretárias. Mac, com um braço inutilizado, limitou-se a fazer o possível por não atrapalhar.
A derrocada da cúpula prosseguia. A poeira no ar era cada vez mais densa.
Não temos tempo.
— Chega! — ordenou Gray. — Temos de ir!
Abandonaram a divisão, contornaram uma esquina e correram pelo túnel mais próximo, iluminado pelo brilho vermelho de fechaduras eletrónicas que protegiam numerosas divisões de arrumação. A fila de luzes vermelhas estendia-se ao longo da passagem inteira. Ao fim de uns setenta metros, o túnel terminou numa parede de pedra.
Gray apoiou a mão na parede de rocha vulcânica.
Fim da linha.
Virou-se para os outros. Atrás dos companheiros, as luzes vermelhas começaram a apagar-se em sucessão, uma mancha negra que crescia, indicando a progressão da derrocada ao longo do túnel.
— Existe alguma saída? — perguntou Gray.
A resposta do monsenhor foi pouco mais do que um murmúrio.
— Não...
15
23 de junho, 07h04 TRT
Arredores de Çanakkale, Turquia
Tenho de arriscar...
Elena atravessou a cela de pedra e ajoelhou-se junto à estreita cama de madeira. Ergueu o rosto para o teto, como se rezasse, e enfiou as mãos por baixo do colchão, ao mesmo tempo que reparava nas antigas marcas de escopro no teto. Velas grossas ardiam em nichos esculpidos nas paredes de pedra, por onde escorriam fios de cera derretida acumulados ao longo de décadas ou mesmo séculos.
Calculava que se encontrava uns doze andares debaixo de terra, num dos muitos antigos subterrâneos que existiam por toda a Turquia. Imaginou esses construtores há muito desaparecidos, com as suas ferramentas de bronze, a escavar aquelas autênticas cidades subterrâneas. Enquanto arqueóloga na região, sabia que até ao presente tinham sido descobertas mais de duzentas, a maioria na região da Capadócia, mais a leste, mas também ali junto à costa.
A mais conhecida fora descoberta nos anos sessenta, a Cidade Subterrânea de Derinkuyu. Visitara o complexo. Tinha rios, pontes e milhares de condutas de ventilação que asseguravam o fluxo de ar até aos pisos mais profundos, alguns a noventa metros da superfície. A gigantesca cidade fora habitada em tempos por mais de vinte mil pessoas. Dispunha de celeiros, igrejas, cozinhas, armazéns, até uma adega. À semelhança de Derinkuyu, algumas daquelas cidades tinham sido convertidas em atrações turísticas, enquanto outras eram usadas para abrigar animais ou como esconderijos secretos de gente pouco recomendável.
O que era o caso daquela cidade em concreto.
No dia anterior, o jato privado que transportara Elena desde o Ártico aterrara numa pequena pista escondida nas montanhas turcas. A seguir, ela tinha sido levada de carro para os arredores de uma povoação e para a cave de um armazém, onde uma porta conduzia àquele mundo subterrâneo.
Elena fora conduzida ao longo de escadas de pedra e passagens iluminadas com lâmpadas penduradas. Nos níveis superiores, passara por galerias repletas de equipamentos de ginásio, outras com prateleiras cheias de armas e caixas de munições. Cruzara-se igualmente com homens e mulheres de olhar duro, vestidos ora com roupa preta, ora vermelha. Pela subserviência demonstrada, os elementos que se vestiam de vermelho deviam ser recrutas em formação. Ninguém olhara para ela, à medida que era encaminhada pela mulher que se apresentara como Filha de Moisés. Os elementos que se vestiam de preto baixavam discretamente as cabeças ao passar pela mulher, que nitidamente ocupava uma posição mais elevada na hierarquia do grupo.
Elena conseguia adivinhar o propósito do complexo.
Um campo de treino terrorista.
Quanto mais descia, mais essa certeza aumentava. Havia guardas armados à entrada de cada nível, posicionados diante de enormes pedras em forma de discos, não menos antigas do que a própria cidade. Para se abstrair do nervosismo, concentrara-se no significado arqueológico daquilo que observava. Aquelas cidades tinham sido construídas para as populações escaparem a ataques, e as pedras circulares serviam para selar os diferentes níveis. Ao longo de milénios, aquelas terras tinham servido de palco a inúmeras guerras. O complexo de Derinkuyu remontava ao século oitavo a.C. e outros eram ainda mais antigos, mas a maioria tinha sido construída durante a Idade das Trevas Grega, quando a região do Mediterrâneo se encontrava em guerra.
Enquanto se deixava guiar pelos túneis, Elena passara os dedos pelas paredes e imaginara o esforço necessário para roubar aquela cidade, e as outras centenas semelhantes àquela, às entranhas da Terra. Embora o solo fosse moderadamente macio, constituído de material vulcânico que podia ser esculpido e talhado, a quantidade de braços necessária e a dimensão da escavação continuavam a parecer-lhe avassaladoras.
Semelhantes reflexões levantavam perguntas: Por que razão foram estas cidades erguidas à pressa nesses tempos negros? De que se escondiam estas pessoas? O que as aterrorizara a ponto de sentirem que precisavam de fugir para as profundezas da Terra?
Nos níveis inferiores do complexo, Elena passara por dormitórios que cheiravam a gordura e carne grelhada, espaços que serviam de armazéns atulhados de caixotes, barris e sacas. Calculara que houvesse ali comida suficiente para durar anos. Mais abaixo, encontrara uma secção que parecia um labirinto de salas repletas de estantes com livros e armários cheios de estranhos artefactos. Abrandara o passo, curiosa, mas os seus captores forçaram-na a continuar até se encontrar numa zona à luz de vela e por fim na cela onde dormira.
Fora-lhe servido um jantar frio e, de manhã, o pequeno-almoço.
No entanto, Elena sabia que algo mudara durante a noite. De manhã, ouvira gritos nos pisos superiores. Tentara questionar a recruta que lhe servira o pequeno-almoço, uma jovem que era pouco mais do que uma adolescente. Os olhos da rapariga brilharam de preocupação. Tudo o que obteve dela foi um aviso: Faz o que eles te mandarem. Diz-lhes o que querem saber.
Desde então, andara às voltas na cela, atormentada pela pergunta óbvia.
O que esperam que eu saiba?
As mãos encontraram finalmente o que escondera debaixo do colchão. Retirou os dois pequenos livros — uma cópia da Odisseia de Homero e o diário de bordo do comandante morto —, o conteúdo do pacote guardado pelo cadáver congelado. Tendo viajado horas sentada com o pacote entalado na cintura das calças, o calor do corpo aquecera os livros congelados. As capas de couro eram agora maleáveis, os cordões que as amarravam manuseáveis.
O que os captores queriam tinha de estar relacionado com o historial do navio encalhado. De outra forma, qual era o sentido de sequestrarem uma arqueóloga náutica, especializada em cultura mediterrânea? Elena sabia que a sua vida dependia da sua utilidade aos olhos dos captores. Também sabia que o pai moveria a Terra e o Céu para a encontrar, porém, até que isso acontecesse...
Tenho de me manter viva.
Para isso, precisava de se armar com o máximo de informação possível.
Seja qual for o risco.
Levou os livros para a mesinha tosca onde se encontrava ainda o pequeno-almoço, no qual não tocara. Não tinha receio de estar a ser vigiada por câmaras escondidas. A cela inteira era rocha sólida, com exceção da porta de madeira. Além disso, a única iluminação naquelas masmorras provinha de velas ou tochas.
Sem eletricidade e com as paredes de pedra demasiado grossas para permitir a transmissão de sinais eletrónicos, sentiu-se confiante o suficiente para pousar os livros na mesa e abrir cuidadosamente aquele que se intitulava O Último Testamento do Quarto Filho de Moisés. Graças ao invólucro de pele de foca e cera, as páginas e a tinta tinham resistido à passagem do tempo. Encontravam-se quebradiças, mas ela podia folheá-las com algum cuidado.
Começou a ler o relato do autor, Hunayn ibn Musa, o quarto filho de um homem chamado Musa, ou Moisés. As primeiras páginas davam conta dos pormenores da preparação do navio, da escolha da tripulação e da primeira semana no mar. Continham ainda algumas reflexões pessoais acerca dos poemas de Homero, incluindo trechos traduzidos da monumental obra Geografia, da autoria de Estrabão, um historiador do século primeiro que defendia que os escritos de Homero se baseavam em acontecimentos históricos.
Segundo o relato do comandante, o navio alcançou uma ilha descrita por ele como a «Forja de Hefesto». A história terminava nesse ponto. Uma enorme secção de páginas havia sido arrancada do caderno.
Um ato deliberado.
Elena franziu o sobrolho, frustrada. Em todo o caso, estava mais interessada na última secção do livro, ainda intacta. Queria saber o que acontecera ao navio, como é que acabara na Gronelândia. A história retomava com uma furiosa tempestade e uma difícil viagem que levara o navio até um território que, numa primeira impressão, seria a Islândia (uma ilha de fogo e gelo, de solos fumegantes e vastas florestas brancas), de onde prosseguira então para a costa da Gronelândia (uma terra coberta de gelo, para lá dos confins do mundo, assombrada por ursos fantasmagóricos de pelagem branca).
O coração de Elena começou a bater mais depressa quando chegou à última entrada do diário.
Leu a data no topo da página: Jumada al-Thani 22, 248.
O ano — 248 — tinha de ser baseado no calendário árabe. Converteu a data para o calendário gregoriano e obteve o número 862.
No século ix.
Altura do ano em questão: final de agosto.
Franziu o sobrolho.
Parece-me improvável que o navio ficasse preso no gelo nessa altura do ano. O que poderá ter acontecido?
Respirou fundo e começou a ler aquelas que seriam as últimas palavras de Hunayn ibn Musa ibn Shakir, o quarto filho de Moisés:
Meus queridos irmãos, Muhammed, Ahmad e Al-Hasan. Peço-vos que me perdoem pela minha traição, por ter desafiado a estimada Casa da Sabedoria numa altura em que os nossos inimigos se fortaleciam e sabendo que a minha descoberta poderia mudar o destino a nosso favor.
Mas não tive escolha. Escrevo estas últimas palavras como um gesto de absolvição e também como um aviso.
Enquanto deixo a tinta fria no papel, os gritos nas minhas costas silenciaram-se finalmente. Durante a maior parte da noite, fiquei aqui, encolhido na minha cabina, com as mãos sobre os ouvidos. De pouco me serviu. Nem as orações a Alá afastaram os gritos dos homens, o bater dos punhos na porta trancada, as súplicas desesperadas. Ainda que tenha sentido o sofrimento e o terror deles nos ossos, não cedi.
Na mente, mantenho a imagem destes shayatin, estes demónios do Tártaro, a despedaçarem a minha fiel tripulação, homens que me serviram durante dois anos. No entanto, como esta história será capaz de provar, o terror de uma morte lenta pode converter o homem mais nobre no maior dos selvagens.
Há cinco dias, conduzi este navio a esta terra desolada nos confins do mundo. Depois de descobrir a ímpia verdade, não tive coragem de navegar para mais nenhum porto. Em vez disso, tracei o rumo para esta caverna nestas costas geladas, empurrado por uma violenta tempestade e mentindo aos homens acerca das quantidades de água e carne salgada necessárias para a longa viagem de regresso a casa.
Em virtude disso, sabotei o navio durante a noite, destruindo os mastros e as velas com um machado. Ao descobrirem o que tinha feito, os homens suplicaram-me que autorizasse as reparações. Alguns ameaçaram-me, inclusive. Quando recusei, apercebi-me da determinação de uns e do pânico de outros.
Sabendo que nunca seria capaz de enfrentar uma dezena de amotinados, recorri à única arma capaz de garantir que o navio nunca deixaria este cais gelado. Enquanto a tripulação dormia, parti uma das vasilhas de Pandora, despertando e libertando a horda de demónios.
Sei que foi uma crueldade necessária, pois o que aqui se esconde nunca poderá ser encontrado. E se um dia acontecer, rezo para que os horrores preservados neste navio sirvam de aviso aos que um dia aqui chegarem, forçando-os a desistir da busca do Tártaro.
Com os gritos silenciados, ouço as garras dos demónios a raspar na madeira à medida que escrevo. Esperarei que adormeçam novamente. Depois, iniciarei a minha longa vigília. Suportarei o frio, colocarei as armadilhas contra os indignos e aguardarei o final inevitável. Que me sirva de expiação.
Até lá, peço o perdão de Deus pelo sangue que derramei agora e por erros passados. Retiro algum conforto de saber que mantive o mundo seguro. Por quanto tempo? Não sei.
Ao meu lado, o tiquetaque do Atlas da Tempestade marca a passagem do tempo, acompanhando o pulsar do meu coração, assinalando a contagem decrescente para a inevitável condenação. Tenho noção de que devia destruir este mecanismo infernal, mas não sou capaz. Permanece como a única ligação a vós, meus três irmãos. Lembro-me de o construirmos, de como a nossa vida era então recheada de risos, excitação e esperança. Juntos, criámos o mais espantoso instrumento náutico. Como nenhum outro, protegido de maneira que apenas eu pudesse usá-lo e alimentado pelo fogo de Prometeu.
Enquanto escrevo, recordo que foi esse titã, Prometeu, que roubou o fogo de Zeus e o ofereceu à humanidade, um crime pelo qual foi condenado a sofrer eternamente. Também eu roubei o fogo do Tártaro, que levei para casa, e também por isso devo ser castigado.
Desejava nunca ter seguido as pistas encontradas na Odisseia de Homero e descoberto a entrada do Tártaro, onde se escondeu o grande inimigo dos tempos do poeta, a praga que derrubou três reinos. Mas encontrei. Na minha ânsia de regressar, trouxe comigo um barril daquilo que acreditávamos ser o Óleo de Medeia, uma prova da minha descoberta. Na altura, porém, sem homens ou mantimentos suficientes, não ousei avançar mais fundo no mundo do Tártaro.
Em casa, contei-vos a minha aventura, e os quatro construímos o Atlas da Tempestade, que alimentámos com o Óleo de Medeia e protegemos com a Chave de Dédalo. No entanto, apenas eu fiquei responsável por guardar os raios da Estrela Polar, as três ferramentas necessárias para revelar o verdadeiro rumo entre os vários falsos que incluímos no mapa. Foste tu, Ahmad, que ajuizadamente sugeriste que só este teu irmão devia conhecer a localização do Tártaro. Caso contrário, os nossos inimigos poderiam arrancar essa informação aos que permaneceram na Casa da Sabedoria.
Alá seja louvado, Ahmad, por sussurrar tamanha sabedoria aos teus ouvidos.
Há um ano, dez poderosos navios deixaram as nossas costas a fim de colher o que pudesse ser encontrado, mas apenas um escapou às garras do Tártaro, e será a minha última morada. Manterei a minha vigília, protegendo o Atlas da Tempestade até ao último fôlego, pois existe outra razão para não destruir a nossa maior criação. Se os habitantes do Tártaro — esses monstruosos Titãs — algum dia escaparem, este mapa poderá ser a única esperança para a humanidade. Sabendo disso, guardarei as chaves da salvação junto ao coração.
Mas a dúvida permanece: quanto tempo ficará o mundo seguro?
A ausência de resposta aterroriza-me mais do que qualquer demónio.
Elena continuou a ler as últimas páginas, que eram predominantemente uma declaração de arrependimento e de afeto pelos irmãos deixados para trás. Antes que pudesse terminar a leitura, ouviu vozes junto à porta da cela. Embrenhada na história, não se apercebera de alguém a aproximar-se.
Em pânico, pegou nos livros e tentou enfiá-los à pressa na cintura das calças. Ato contínuo, alguma coisa soltou-se da lombada do diário de Hunayn. Os objetos caíram no chão de pedra com um tilintar metálico. Agachou-se e deparou-se com três agulhas de bronze com cerca de dez centímetros. Cada uma exibia uma minúscula bandeira com uma letra árabe.
O que são estas...
A tranca da porta foi corrida.
Sem tempo a perder, pegou nas agulhas, enfiou-as no bolso e levantou-se.
A porta abriu-se com um ranger das antigas dobradiças. Uma figura familiar entrou. Pela expressão sombria e olhar cortante, Elena percebeu que a noite não correra de feição à Filha de Moisés. A mulher acenou-lhe bruscamente, rodou sobre os calcanhares e voltou a sair.
— Eajluu — ordenou em árabe. — Vamos!
Elena apressou-se a segui-la, escoltada por dois guardas armados.
— Para onde me levam?
— Vou ensinar-lhe a primeira de muitas lições — respondeu a mulher sem olhar para trás.
Pelo tom ameaçador, Elena percebeu que não iam levá-la para uma sala de aulas nem sequer para a biblioteca situada mais acima. Na verdade, continuaram a avançar pelo nível das masmorras.
Enquanto atravessavam uma galeria cavernosa, manteve a mão no bolso, com medo de que as agulhas tilintassem.
Foi quando um grito rompeu o silêncio e a escuridão.
Elena parou, petrificada, mas um guarda empurrou-a com o cano da arma. Com as pernas a tremer, continuou a andar receando o pior.
Vão torturar-me...
No final da galeria, havia um conjunto de portas duplas iluminadas por tochas acesas de cada lado. A Filha de Moisés bateu duas vezes, e a porta foi imediatamente aberta.
A mulher obrigou Elena a entrar na câmara de pedra, onde ardiam mais tochas. O calor era intenso, o ar carregado. Num dos cantos, havia um braseiro de bronze cheio de carvão incandescente, onde se encontrava enfiado um conjunto de ferretes com pegas de couro.
O guarda-costas da líder, o imponente gigante que Elena vira pela primeira vez na Gronelândia, atravessou a divisão em direção ao braseiro. Levava na mão um ferrete com a ponta ainda em brasa, que tornou a enfiar no carvão.
Elena cerrou os dentes ao identificar a origem do grito que ouvira instantes antes.
Um homem enorme estava deitado, despido e amarrado numa mesa de madeira no centro da sala, a sua forma suada e musculada estendida com os braços presos por cima da cabeça. Correias de cabedal prendiam-lhe igualmente o tronco e as pernas. Exibia uma ferida horrível na coxa esquerda, com a carne ainda a fumegar depois de queimada pelo ferrete em brasa.
A Filha de Moisés agarrou no braço de Elena, forçando-a a aproximar-se. Aos pés da mesa, a mulher deu uma palmadinha na madeira.
— Este instrumento simples, mas extraordinariamente eficaz, foi inventado pelos combatentes do Daesh. Chamam-lhe o Tapete Voador.
Elena cerrou os dentes. O Daesh era mais conhecido no Ocidente como ISIS, mas era tudo a mesma coisa.
A Filha de Moisés segurou-a com firmeza e fez sinal ao gigante.
— Kadir, uma demonstração, por favor.
Kadir aproximou-se do centro da mesa. Pousou as mãos na enorme roda de ferro acoplada e girou-a lentamente.
A mesa começou a dobrar. O centro elevou-se e as pontas baixaram. O homem gemeu de dor. Cada volta da roda aplicava pressão nas costas, forçando a espinha a dobrar-se ao contrário, levando cada vértebra à iminência da rutura.
A Filha de Moisés ergueu a mão.
— Chega, Kadir. Por enquanto.
O gigante largou a roda e endireitou-se.
— Özür dilerim, Nehir — murmurou. Baixou a cabeça e apressou-se a corrigir: — Ana asfa, Bint Musa.
Elena fitou a mulher, cujo rosto não escondia a irritação. Kadir desculpara-se em turco e depois em árabe, como que a tentar desfazer o que seria um lapso. Elena alternou o olhar entre os dois, à medida que digeria a importância daquele pormenor.
Será possível que sejam turcos? Que este grupo terrorista esteja a tentar passar-se por árabe ou a utilizar a língua árabe por alguma razão especial?
O deslize de Kadir também fornecera outro pormenor importante.
O verdadeiro nome da Filha de Moisés.
Nehir...
Furiosa, a mulher puxou Elena pelo braço até à cabeceira da mesa, empurrando-a bruscamente na direção do prisioneiro torturado.
— Ou nos ajuda ou este americano irá sofrer por si.
Elena fitou o rosto do homem. Horrorizada com a situação, era a primeira vez que o observava com atenção. O suor escorria pela testa franzida do americano e o nariz partido e inchado estava coberto de sangue seco. Não esperava reconhecer aquele rosto, mas apenas precisou de um segundo.
O americano em questão era o namorado de Maria Crandall. Embora nunca tivessem sido apresentados, conhecia-o das fotografias que a amiga lhe enviava e colocava no Instagram. Elena sabia que os dois planeavam ir ao seu encontro na Gronelândia, o que não chegara a acontecer. Continuou a fitar o prisioneiro, chocada e confusa.
Como é que vieste aqui parar? Onde está a Maria?
— Joe... — murmurou finalmente.
— Não lhes digas nada — resmungou ele, em nítido sofrimento.
As palavras de Joe tiveram o condão de agravar a irritação de Nehir. A mulher praguejou e lançou-lhe um olhar fulminante. Elena interrogou-se se o namorado de Maria era o motivo do mau humor da líder do grupo.
Mas porquê? O que é que ele poderá ter feito a esta gente?
Nehir fez sinal a Kadir. O gigante girou novamente a roda. A mesa dobrou mais um pouco, tal como as costas de Joe. Ele esticou o pescoço em agonia, um fio de sangue fresco escorreu-lhe do nariz.
— Parem! — gritou Elena, receando que a fúria cega de Nehir partisse a espinha de Joe. Para acalmar a mulher e desviar-lhe a atenção, enfiou a mão na cintura das calças. — Tomem... encontrei isto no navio!
Elena retirou os dois cadernos. Estendeu a mão e entregou-os a Nehir.
A mulher reparou de imediato nos títulos em árabe e os seus olhos arregalaram-se. Vociferou uma ordem para Kadir e o gigante girou a roda no sentido contrário, devolvendo a forma plana à mesa. Nehir virou costas e encaminhou-se rapidamente para a porta com os recém-adquiridos tesouros, mas não sem antes ordenar aos guardas para reconduzirem Elena à cela.
Enquanto era empurrada pelos guardas, Joe lançou-lhe um olhar zangado pela facilidade com que ela cedera, mas Elena não se importou. Sabia a verdade. Tilintava no seu bolso.
Não te preocupes, Joe. Não lhes dei tudo.
Na ombreira da porta, olhou para trás uma última vez, atormentada por uma questão premente.
— Onde está a Maria? — gritou.
Joe deixou cair a cabeça na mesa e suspirou.
— Em segurança... a Maria está em segurança...
Mais aliviada, Elena deixou-se levar pelos guardas.
Finalmente. Já era altura de ter uma boa notícia!
16
23 de junho, 07h10 CEST
Castel Gandolfo, Itália
De mal a pior...
Maria escutou o silêncio que se abateu sobre as galerias escondidas no subsolo do palácio pontifício. O bombardeamento terminara minutos antes. Fora breve, mas brutal. Algumas pedras continuavam a cair com um ruído abafado para lá da secção do túnel onde o grupo se encontrava encurralado.
Esta bolsa de ar não vai aguentar muito tempo. Partindo do princípio de que não sufocamos antes disso.
Todos usavam lenços ou pedaços de tecido sobre os narizes e bocas, destinados a filtrar a poeira do ar.
O feixe oscilante de uma lanterna anunciou o regresso de Gray e do major Bossard. Os dois homens tinham ido inspecionar a derrocada que bloqueara o túnel. Passaram por Seichan, que examinava com outra lanterna uma das portas escuras ao longo da passagem.
— Não se consegue passar — disse Gray, mal se juntou ao grupo. — Também experimentei o meu telefone satélite. Não consigo obter sinal.
Nada que não fosse esperado.
— Bom, não podemos acusar os malditos de não serem consistentes — disse Mac, sentado com as costas contra a parede e a mão a apoiar o braço ao peito. — É a segunda vez em dois dias que me encurralam num túmulo. O primeiro de gelo, e este de rocha.
Qualquer coisa nas palavras de Mac fez Maria virar a cabeça, só não sabia porquê.
O padre Bailey lançou um olhar desolado ao climatologista.
— A culpa de estar aqui é toda minha. Peço desculpa por isso.
— Ouça, não estou a queixar-me. Se ainda estivesse lá em cima, na enfermaria, provavelmente tinha ido desta para melhor. Dá-me a impressão de que não sobrou pedra sobre pedra. Se morrer aqui em baixo, vivi mais uns minutos, o que é melhor que nada.
Maria endireitou-se.
É isso!
— Mas isto não é um túmulo — disse, virando-se para monsenhor Roe ajoelhado junto ao mapa como se estivesse determinado a proteger o tesouro de Da Vinci até ao último fôlego. — Não nos disse que o Santo Scrinium tinha sido instalado nas caves de uma vila romana?
Roe baixou o pedaço de tecido que lhe cobria a boca.
— Sì, na vila do imperador Domiciano.
— E foi aqui que os romanos construíram as cisternas para o abastecimento de água da vila?
— Certo.
— E de onde provinha a água para as cisternas? Do lago Albano?
— Acho que li qualquer coisa sobre isso — confirmou Roe. — Os romanos construíram as cisternas num nível inferior ao do lago. O ângulo dos aquedutos e a gravidade faziam o resto.
Gray juntou-se à conversa.
— Acha que os aquedutos ainda existem?
— Não faço ideia — admitiu Roe. — Mas sei que o Santo Scrinium não ocupa a totalidade das fundações da vila. O complexo da biblioteca foi isolado dessas secções antigas há muitos séculos.
— E sabe onde isso foi feito? — perguntou Maria.
— Sì — anuiu Roe, mas não pareceu animado quando apontou. — Na ponta do outro túnel, o que se encontra a sul deste.
Mac suspirou.
— Acho que escolhemos a toca errada para fugir. Não vamos sair daqui a esgravatar estas paredes com as unhas.
— Talvez haja uma maneira — disse Roe. — Eu mostro-vos.
Maria e os outros juntaram-se à volta do monsenhor, que usou um dedo para desenhar na camada de poeira do chão. Desenhou três linhas e depois uniu-as com arcos concêntricos.
— Os três túneis principais estão ligados pelas várias secções da biblioteca, que se estendem de um para o outro. Se conseguirmos abrir uma destas portas, podemos atravessar a respetiva secção e chegar ao túnel seguinte.
— Mas não há eletricidade — disse Maria. — As portas estão trancadas. Não conse...
— Eu consigo — disse Seichan levantando-se e terminando a inspeção da única porta que não se encontrava bloqueada pelo entulho. Apontou o punhal à fechadura eletrónica. — Mas temos de ser rápidos. E só dispomos de uma oportunidade.
07h14
Quem disse que o crime não compensa?
Em silêncio, Gray agradeceu aos céus pelo passado marginal de Seichan.
— Não sabia que tinhas aprendido a arrombar cofres na Guilda — comentou enquanto ela se ocupava da fechadura.
Seichan encolheu os ombros.
— Aprendi isto muito antes de ingressar na Guilda. Não é muito diferente de uma ligação direta num carro. Nos meus tempos de miúda, em Seul, fazia isto muitas vezes.
Gray tentou imaginar aquela versão de Seichan, uma rapariga rebelde à solta nas ruas do Sudeste Asiático. Havia ainda muito do passado dela que desconhecia. Esperava que um dia tivesse a oportunidade de preencher as lacunas.
— Não mexas a lanterna — avisou ela.
Gray reajustou o foco. Seichan tinha já retirado a placa frontal da fechadura eletrónica com a ponta da faca. Semicerrou os olhos enquanto ligava os circuitos do telefone satélite desmontado aos circuitos da fechadura.
Virou-se para monsenhor Roe, que se encontrava junto dela.
— Se isto resultar, tem segundos para passar o cartão magnético na fechadura. Depois disso, o circuito ficará queimado e não teremos outra oportunidade. Está pronto?
Monsenhor anuiu e aproximou o cartão da fechadura.
— Quando eu disser. — Seichan ligou o último fio à bateria de lítio do telefone. — Agora!
A luz vermelha da fechadura tremeluziu. Roe passou o cartão na ranhura. A luz mudou para verde. Ouviu-se um som metálico de engrenagens, a que se seguiu uma explosão de faíscas que percorreram todo o circuito exposto da fechadura. A luz verde apagou-se.
Seichan levantou-se, empurrou o puxador da porta e praguejou quando nada aconteceu. A fechadura não completara o ciclo de abertura.
Estivemos tão perto...
Frustrada, Seichan deu um passo atrás e pontapeou a porta. O impacto abanou a ombreira e ouviu-se um clique. Olharam uns para os outros, as respirações suspensas.
Seichan estendeu a mão e empurrou novamente o puxador.
A porta abriu-se, o que originou uma onda de aplausos e exclamações de entusiasmo.
Gray abraçou-a com força.
— A minha assaltante de bancos!
— Ainda não estamos a salvo — lembrou Seichan.
As palavras dela foram pontuadas por um violento estrondo ao fundo do túnel.
Gray pôs o grupo em movimento, apressando os companheiros ao longo de uma galeria escura, de paredes curvas, selada de ambos os lados por portas de vidro herméticas. Apanhou vislumbres de estantes repletas de livros e expositores com tesouros obscuros, alguns de ouro ou prata, que cintilavam sob os feixes das lanternas. Mas não havia tempo para fazer turismo naquela biblioteca proibida.
Alcançaram a porta no lado oposto. Tinha um puxador manual no lado de dentro, a fim de permitir a saída a alguém que ali ficasse fechado.
Como aconteceu connosco.
Gray abriu a porta para o túnel seguinte. Apontou a lanterna para um lado e para o outro. À direita, a passagem encontrava-se bloqueada por uma pilha de entulho. À esquerda, terminava numa parede de tijolo.
Gray conduziu o grupo nessa direção.
— E agora? — perguntou Maria, passando a mão sobre os tijolos. — Como atravessamos isto?
O major Bossard avançou para a frente do grupo e ergueu a metralhadora.
— Acho que tenho aqui uma solução.
Gray reconduziu os outros de volta para a biblioteca. O militar despejou o carregador contra a parede, concentrando os tiros num par de tijolos que pareciam mais frágeis. Assim que a troada ensurdecedora terminou, os dois tijolos estavam reduzidos a pó. Outros tantos tinham caído em volta.
Gray foi ao encontro de Bossard, a fim de estudar a abertura na parede. O major empurrou e pontapeou mais uns tijolos, alargando o buraco. Gray enfiou a cabeça e um braço, usando a lanterna para ver o que havia no outro lado. Tratava-se de um espaço cavernoso, cavado na rocha vulcânica, e no fundo a luz refletiu num espelho negro.
Água...
Suspirou, aliviado.
Ordeiramente, Gray e os outros derrubaram mais alguns tijolos e desceram uma série de degraus de pedra para o espaço seguinte. No centro, uma piscina quadrada, com cerca de trinta metros, encontrava-se cheia de água. Gray contornou-a, perscrutando as suas profundezas com a lanterna. Num dos lados, mais ou menos a um metro da superfície, encontrou a abertura arqueada de um túnel — um aqueduto romano.
— Eu mergulho — disse Gray, ao mesmo tempo que os outros se reuniam à sua volta. — Vou ver se é possível nadarmos até ao lago.
Seichan avançou. Despira o blusão e a camisa, e descalçava já as botas.
— Eu nado melhor que tu — disse. Enfiou um dedo na barriga de Gray. — Sem falar deste pormenor, claro.
Gray queria discordar, mas sabia que Seichan tinha razão. Não ao questionar a sua aptidão física, mas porque ela era em parte peixe ou praticamente uma sereia. Se alguém conseguia nadar aquela distância, era ela.
— Força, mostra do que és capaz — disse.
Seichan despiu as calças e pegou na lanterna. Ao endireitar-se, os seus olhos verdes brilharam.
A excitação dela fez o coração de Gray bater mais depressa.
— Tem cuida...
Seichan mergulhou suavemente, quase sem perturbar a superfície da água, e depois desapareceu na escuridão do túnel.
Mac deu palmadinha nas costas de Gray.
— O meu amigo é um homem de sorte.
Eu sei...
07h27
Seichan acendeu a lanterna e deslizou pelo túnel a bater as pernas. A passagem, pouco mais larga do que os seus ombros, dificultava os movimentos, mas também lhe permitia usar a proximidade das paredes para se impelir para a frente com uma das mãos. A outra segurava a lanterna.
Desconhecendo a distância a que se situava o lago, movia-se com rapidez, mas sem desperdiçar energia. Cada gesto era controlado, focado na conquista do metro seguinte com uma deliberada economia de movimentos. Mantinha os lábios fechados, o peito relaxado.
Volta e meia, deixava escapar uma bolha de ar pelo nariz. Servia para iludir o corpo, levando-o a acreditar que um novo fôlego se encontrava iminente, o que por sua vez aliviava a pressão e condicionava o instinto de lutar contra a falta de oxigénio.
Continua...
Continuou a bater as pernas e a empurrar com a mão livre. Foi então que o feixe da lanterna iluminou um obstáculo metros à frente. Nadou até lá. Um pedregulho bloqueava o aqueduto. O espaço que sobrava dos lados era insuficiente para que conseguisse passar.
Praguejando entredentes, estudou o obstáculo e percebeu que era mais uma laje do que um pedregulho.
Pode ser que...
Agarrou na parte superior e fez força com as pernas. Empurrou, puxou, abanando a laje até conseguir tombá-la, criando assim uma abertura suficiente para poder passar. Enfiou a cabeça, um braço e finalmente o tronco, que torceu e contorceu enquanto lutava para ultrapassar o obstáculo.
E foi então que ficou entalada.
Seichan percebeu imediatamente. Gray apreciava a forma generosa dos seus novos seios carregados de leite — e o pequeno Jack também, já agora —, mas aquele volume adicional era agora um sério problema. Tentou nadar para trás, preparada para regressar à cisterna e admitir a derrota, mas a manobra deixou-a ainda mais presa.
Não consigo sair daqui.
Sentiu uma pontada de pânico. Os pulmões comprimiram-se, e não só pela pressão exercida pelas paredes e pela laje. A mente encheu-se de imagens de Jack a gargalhar na banheira, a debater-se para abocanhar um mamilo, a chuchar num polegar. Mesmo naquela situação, a dúvida invadiu-a. Continuava a interrogar-se se Jack não ficaria melhor sem ela. Pior que isso:
E eu, ficaria melhor sem ele?
Antes que a culpa lhe roubasse a força e vontade, cerrou os dentes. Podia não saber o que seria melhor para ela ou para o bebé, mas tinha uma certeza.
A decisão será minha.
Não tencionava morrer ali, permitindo que essa escolha lhe fosse retirada. Sem outra solução, esvaziou completamente os pulmões. As bolhas de ar precioso cobriram-lhe o rosto e levantaram-lhe os cabelos.
O peito comprimido ofereceu-lhe uma fração de espaço adicional, o suficiente para se libertar. Deteve-se um instante. Sabia que era capaz de regressar à cisterna, mas o que ganhava com isso, ao certo? De que forma é que isso a levaria de volta para Jack se fosse essa a sua decisão?
Que se lixe.
Bateu as pernas e seguiu em frente.
De lanterna em riste, continuou a avançar pelo aqueduto, deixando rapidamente para trás o ponto de não retorno. O diafragma pressionava-lhe os pulmões, tentando forçá-la a respirar. O seu campo de visão estreitou-se, os movimentos tornaram-se mais frenéticos.
Porém, o feixe da lanterna não revelou nada além de escuridão.
A visão reduziu-se a um único ponto de luz.
Não vou conseguir.
07h44
Na cisterna, o nervosismo mantinha Gray às voltas de um lado para o outro. Consultou o relógio pela enésima vez, com o suor a orlar-lhe as sobrancelhas, a respiração pesada.
— Dez minutos — disse para si mesmo. — Ela já devia ter voltado.
Maria tentou acalmá-lo.
— Pode ter ido procurar ajuda.
— Também pode estar apenas a recuperar o fôlego — sugeriu Mac.
Gray abanou a cabeça. Já se tinha despido e encontrava-se de boxers, incapaz de não fazer alguma coisa enquanto esperava. Aproximou-se da berma da piscina.
— Espera mais um minuto — sugeriu Maria.
— Não vale a pena ir atrás dela — disse o padre Bailey. — Se houve algum problema, já é demasiado tarde. Ninguém consegue estar dez minutos sem respirar. Apenas vai arriscar a sua vida, comandante Pierce.
Gray cerrou os punhos, pronto para esmurrar o padre. Em todo o caso, aquelas palavras só o ajudaram a decidir-se.
Não posso esperar mais.
Ao inclinar-se para mergulhar, o fundo negro da piscina iluminou-se. Deu um passo atrás à medida que o brilho se tornava mais forte. Uma cabeça emergiu da água, com o rosto tapado por uma máscara e um bocal de mergulhador.
Gray não teve dificuldade em perceber quem era.
— Seichan...
Antes que ela pudesse responder, outras duas figuras emergiram na piscina. Os desconhecidos usavam equipamento de mergulho completo.
Gray ficou momentaneamente confuso. Quem eram aqueles homens? Como é que Seichan conseguira uma equipa de resgate numa questão de minutos? Só então percebeu. Desviou o olhar na direção de Maria, lembrando-se de que havia uma equipa de mergulhadores no lago à procura do corpo de Kowalski. Seichan devia ter alcançado o lago, onde lhes pedira ajuda.
Seichan cuspiu o bocal e levantou a máscara.
— Prontos para saírem daqui? — perguntou.
E de que maneira.
Ao longo da meia hora seguinte, a equipa de mergulhadores ajudou a transferir todos os elementos do grupo para a segurança das margens do lago Albano. O facto de estarem vivos devia constituir um motivo de júbilo óbvio, mas ninguém celebrou.
Os uivos das sirenes ecoavam por toda a parte. Helicópteros cruzavam o céu, recortados pelo sol nascente que espreitava acima do rebordo da caldeira. De pé, com o telefone satélite encostado ao ouvido, Gray observou as ruínas do palácio pontifício. Uma coluna de fumo preto erguia-se em direção ao céu, alimentada por chamas na base. Pelo que conseguia observar, aquela secção inteira da cratera vulcânica ficara reduzida a uma pilha de escombros.
Quase não ouviu a explicação de Painter ao telefone.
— Os dois jatos tinham as devidas autorizações militares e os códigos apropriados — disse o diretor. — Às tantas, pertencem à força aérea italiana. Não sabemos. Os relatórios indicam que os pilotos despenharam os aviões no mar Mediterrâneo depois de se ejetarem. Estão a ser realizadas buscas.
Gray desviou o olhar da imagem de destruição para o motivo que a originara. Monsenhor Roe e o major Bossard, ambos com cobertores sobre os ombros, encontravam-se junto ao tesouro embrulhado em lona, o mapa de Da Vinci.
Quantos pessoas morreram já por causa desta maldita coisa?
Lembrou-se de o monsenhor ter mencionado a escola de verão que decorria nos terrenos do palácio. O novo observatório situava-se a um quilómetro e meio de distância, mas seria o suficiente? Apertou os dedos em torno do telefone. Tencionava certificar-se de que as mortes ali ocorridas não seriam esquecidas e que os responsáveis seriam punidos.
— Podemos não saber quem orquestrou o ataque, mas, pelo que vimos das táticas e dos equipamentos, os jatos de combate, o submarino no Ártico, percebemos que não estamos a lidar com terroristas solitários — constatou Gray, perentório.
Painter concordou.
— Sejam quem forem, têm o apoio governamental de algum país inimigo. A Kat acredita que é por isso que andam sempre um passo à frente. Temos demasiadas agências envolvidas, não sabemos onde e como as informações estão a vazar, e até descobrirmos...
— Temos de passar à clandestinidade.
— Completamente.
Gray fitou o grupo reunido na margem. Precisavam de se pôr em movimento, desaparecer do radar, mas e depois? Havia duas questões óbvias.
Qual o próximo passo?
Mais importante...
Quem é o inimigo?
17
23 de junho, 11h22 TRT
Arredores de Çanakkale, Turquia
Por fim, em breve o mundo arderá.
Exultante, Nehir Saat desceu às profundezas da cidade enterrada. Fora convocada para se deslocar à cidade vizinha de Kumkale, onde testemunhara o primeiro prenúncio do Armagedão. Reunidos em volta de um televisor numa pequena loja de chá, ela e os outros Filhos e Filhas de Moisés assistiram à catadupa de notícias de Itália, às imagens de um palácio a arder, dos cadáveres nas ruas.
Só sentiu necessidade de desviar o olhar quando as imagens exibiram as formas mais pequenas dos corpos de crianças cobertos por lençóis.
Inocentes convertidos em mártires, pensara, mas não lhe atenuara o sentimento de perda, até de culpa, por aquelas mortes. Rezara para que não tivessem sofrido demasiado e estivessem no Paraíso, onde não teriam de esperar muito mais. Retirou algum conforto de saber que quando os portões do Inferno tombassem, o Paraíso regressaria à Terra.
Trazendo de volta aquelas crianças.
Incluindo as suas.
As duas.
Deteve-se a meio das escadas e fechou os olhos, subitamente dominada pela dor. Quando era criança, o seu pai obrigara-a a prostituir-se, juntamente com o irmão. Ela tinha oito anos, Kadir, dez. As repetidas vezes que fora violada tinham-lhe deixado cicatrizes físicas e emocionais.
Quando os dois deixaram de ganhar dinheiro suficiente para o pai, ele vendera-os a um monstro em Istambul. Foi forçada a aceitar um casamento temporário, conhecido como mut’a, que estipulava essa união durante uma hora ou noventa e nove anos. Durante o período do contrato, tivera dois filhos, um rapaz e uma rapariga, ambos indesejados pelo marido. Os bebés foram mortos após o nascimento. Ela tentara proteger a segunda criança, a rapariga a que silenciosamente chamara Huri, que queria dizer anjo. Como castigo, o marido pegara numa faca e deixara-lhe aquela cicatriz no queixo e na garganta. Kadir, na altura com catorze anos, mas já um rapaz com uma estrutura física fora do vulgar, revoltara-se e partira o pescoço ao homem. Os dois viram-se então obrigados a fugir, mas o irmão nunca mais deixara de ser o seu protetor.
Com o tempo, acabaram por chamar a atenção dos Filhos e Filhas de Moisés.
Muito por causa de Kadir, suspeitava ela, cuja fama nos bairros de lata de Istambul se tornava cada vez maior. Como o irmão se recusara a deixá-la para trás, o grupo ficara com os dois. Claro que ninguém sabia que seria ela quem se revelaria o verdadeiro guerreiro. Kadir era demasiado lento, tanto em termos físicos como intelectuais. Além disso, o coração dele também era demasiado sensível, embora nunca se recusasse a obedecer a uma ordem.
Ela, por sua vez, era rápida com as facas e uma atiradora exímia. Porém e acima de tudo, tinha sido a inteligência que lhe permitira ascender nas fileiras do grupo e tornar-se a primeira das Filhas de Moisés.
Na altura, a determinação conduzira-a ao topo, como ainda acontecia.
Tencionava viver o suficiente para ver o mundo destruído e substituído por um novo Paraíso, um local onde aqueles que haviam morrido nas boas graças de Alá regressariam para junto dos seus. Incluindo os seus bebés.
E agora estou tão perto de ver isso acontecer.
Mais animada, continuou a descer as escadas ao encontro de Musa, que a convocara para uma reunião no coração da Bayt al-Hikma, a Casa da Sabedoria. Aquele nível da cidade subterrânea albergava incontáveis textos, alguns remontando ao ano de 1258, quando se dera a queda de Bagdade nas mãos dos exércitos mongóis liderados pelo neto de Gengis Khan, que invadiram a cidade, incendiando casas e mesquitas e massacrando os seus habitantes. A pior atrocidade, porém, tinha sido a destruição da secular academia de estudos avançados, a verdadeira pérola da Idade de Ouro Islâmica, a Casa da Sabedoria. Os mongóis saquearam a escola, lançando os seus preciosos volumes ao rio Tigre. Diz-se que as suas águas se tornaram pretas durante dias por causa de toda a tinta, e depois vermelhas com o sangue dos estudiosos assassinados.
Era essa a razão por que, nos dias de hoje, os Filhos e as Filhas usavam aquelas cores.
No entanto, antes da consumação do cerco, um estudioso chamado Nasir al-Din al-Tusi — o primeiro homem que usaria o título de Musa — salvou quatrocentas mil obras, levando-as para lugar seguro. Foram esses textos que mais tarde se tornaram a pedra basilar da nova Casa da Sabedoria. Para proteger o segredo, Nasir recrutou os primeiros Filhos e Filhas, homens e mulheres que treinou severa e metodicamente, a fim de se tornarem guerreiros e académicos, garantindo que tamanha atrocidade nunca mais se repetiria.
E assim acontecera.
O Musa atual era o quadragésimo oitavo líder da Casa da Sabedoria.
E levá-la-ia à sua maior glória.
Humilde e respeitosamente, Nehir baixou a cabeça e entrou no vasto complexo de galerias que constituía a biblioteca. Ocupava uma área superior a quarenta hectares e continha agora dez vezes mais obras que as resgatadas por Nasir.
Nehir encontrou o líder numa pequena divisão ocupada por filas de longas secretárias. Musa estava de pé atrás de uma, acompanhado de dois Filhos mais velhos que trabalhavam na biblioteca.
Nehir fez um compasso de espera à entrada.
Musa apercebeu-se da sua presença e mandou-a entrar. Ela foi ao encontro dele, de olhos postos no chão.
— Minha querida filha — disse Musa, afetuosamente. — Que ninguém duvide de que Alá te tem na sua graça.
— Obrigada — murmurou ela, embaraçada por tamanho elogio.
— Os dois livros que recuperaste da doutora Cargill revelaram-se frutíferos. Para lá de qualquer expectativa, diria.
Nehir acenou com a cabeça na direção da secretária, onde se encontravam os dois livros abertos e pilhas de outros que provavelmente teriam servido para ajudar a decifrar as revelações contidas nos textos recuperados do navio árabe na Gronelândia.
Musa pousou a mão num deles.
— Estas são as últimas palavras do traiçoeiro quarto irmão dos Banu Musa. Embora o relato não esteja completo, conseguimos destrinçar grande parte, o que nos dá esperança de sermos capazes de descobrir o caminho para o Tártaro.
O coração de Nehir bateu mais depressa. Esperava que aqueles livros ajudassem.
Finalmente.
Musa endireitou-se e fitou-a.
— Vou rezar a Alá e pedir-lhe que continue a sorrir-te, embora tenha fé de que será assim, pois tenho uma importante missão para ti.
— Farei o que me pedir.
— Quero que tu e o teu irmão descubram o caminho. Vou enviar convosco outros Filhos e Filhas, e quero que levem os dois prisioneiros. Utilizem-nos um contra o outro, a fim de os obrigar a colaborar no que for necessário. O Atlas da Tempestade também irá convosco, uma vez que estou convencido de que será essencial para o êxito da missão.
Nehir anuiu, honrada pela responsabilidade.
— Não falharei.
— Confio que não.
Nehir endireitou-se, aceitando o seu elogio e sentindo-se digna dele.
— Por onde começamos?
Musa pediu-lhe que se aproximasse e apontou para o diário aberto de Hunayn ibn Musa. Deslizou a ponta do dedo sobre uma linha do texto.
— O relato termina aqui, mas o traidor indicou o nome do último porto por onde o navio passou a caminho do Tártaro. É aí que deves iniciar a tua busca.
Nehir inclinou-se e leu o que estava escrito na página.
????? ?????????
O seu sangue gelou ao traduzir aquelas palavras
A Forja de Hefesto.
— A tua missão não será fácil — admitiu Musa, fitando-a e sentindo a sua inquietação. — Pois terás de entrar onde os próprios anjos têm medo de pisar.
TERCEIRA PARTE
A FORJA DE HEFESTO
Canta-me Hefesto de ínclito engenho, Musa de voz límpida, que com
Atena de olhos reluzentes dons esplêndidos aos homens ensinou, homens
que antes mesmo em antros montanhosos viviam como feras.
— HINOS HOMÉRICOS (HINO 20, HEFESTO)
18
23 de junho, 20h49 CEST
Mar Tirreno
Uma coisa é certa, estes filhos da mãe viajam com estilo.
Pela janela, Kowalski apreciou a dimensão gigantesca do esplendoroso iate onde embarcara com Elena cinco horas antes. Um avião transportara-os da costa da Turquia para uma pequena ilha, e depois um helicóptero largara-os naquele barco em pleno mar Tirreno.
E que barco espetacular.
O iate prateado, com mais de noventa metros de comprimento, erguia-se quatro pisos acima da linha de água. Kowalski encontrava-se no piso superior, um salão de janelas panorâmicas com vista para a proa e ambos os lados. Atrás dele, sentada a uma secretária apinhada de livros, Elena rabiscava notas num caderno. Era o segundo que utilizava, depois de gastar as páginas do primeiro. Kowalski fazia o possível por não interromper a arqueóloga nem atrapalhar a sua concentração.
Na verdade, até lhe dava jeito.
Utilizava o tempo para estudar aquela prisão flutuante, avaliando-a com o olhar experiente de um antigo marinheiro. Enquanto os captores lhe acorrentavam os tornozelos, escutara o rugido abafado dos motores na casa das máquinas. Motores duplos a gasóleo, talvez híbridos, mas que seguramente alimentam um sistema de propulsão de jato de água. Uma vez a bordo com Elena, o iate demonstrara de imediato toda a sua potência, navegando em direção a noroeste a uma velocidade que rondaria os trinta nós, um valor francamente impressionante para um barco daquele tamanho.
Mas havia outros motivos de espanto.
O iate não possuía apenas um heliponto, mas dois: um na proa e o outro exatamente acima de si. Além disso, passara com os guardas por um espaço que albergava um conjunto de motos de água pretas, com os narizes apontados para a porta fechada que dava acesso direto ao mar. No mesmo espaço, havia ainda o que parecia ser um submersível com capacidade para quatro homens e equipado com lançadores de minitorpedos.
O submersível era uma boa forma de se lembrar do lugar onde se encontrava. Apesar do aspeto luxuoso e elegante, aquilo não era um barco de lazer. O seu propósito era muito mais sinistro. Os tripulantes — várias dezenas de elementos, pelo menos — encontravam-se armados. Tinham o cuidado de ocultar as armas sempre que estavam no convés, mas exibiam-nas ostensivamente no resto das ocasiões.
Kowalski ergueu a mão e bateu com o nó dos dedos no vidro da janela. Parecia mais robusto do que o habitual, provavelmente à prova de bala e até capaz de resistir a uma explosão.
Suspirando, desviou o olhar na direção da proa. No horizonte, o Sol pairava logo acima dos cones vulcânicos de uma ilha, incendiando-lhes os cumes. As secções inferiores das encostas, sombrias, funestas, fundiam-se nas florestas cerradas que depois davam lugar a pequenas povoações iluminadas ao longo da costa.
— Quem batizou esta ilha tinha uma tremenda falta de imaginação — murmurou. — Olhou e pensou: ena, tantos vulcões, acho que lhe vou chamar Vulcão.
— Vulcano — corrigiu Elena, afastando a cadeira da secretária e endireitando as costas. Tirou os óculos de leitura, atirou-os para cima do caderno e esfregou os olhos vermelhos. — E não se chama assim por causa dos vulcões, mas em homenagem ao deus romano do fogo, Vulcano. O mesmo deus a que os gregos chamavam Hefesto.
Kowalski virou-se.
— Nesse caso, antes Vulcano do que Hefesto.
— Na verdade, também já lhe chamaram assim.
Kowalski dissera aquilo como uma piada, pormenor que escapou a Elena.
Não vale a pena, as mulheres não me compreendem.
— Os antigos gregos chamavam a esta ilha Thérmessa, que significa «terra do calor» — continuou Elena. Pousou a mão num grosso volume. — Porém, neste livro, um historiador grego chama-lhe Hiera de Hefesto, o «Lugar Sagrado de Hefesto», que, dependendo do contexto, também pode ser traduzido por «Fogo Sagrado».
Kowalski virou-se novamente para a janela. O Sol descera e incendiara mais um pouco dos cones vulcânicos.
— Vista daqui, a ilha parece estar de facto a arder.
Elena levantou-se e foi ao encontro dele.
— Talvez por isso os gregos pensavam que Hefesto ainda ali trabalhava. Acreditavam que era nesta ilha que forjava as armas para Ares, o deus da guerra. Algures no subsolo, Hefesto brandia o seu martelo e atiçava os fogos, e os gregos acreditavam que as erupções de fumo e cinza dos vulcões se deviam ao trabalho do poderoso ferreiro. Na verdade, a atividade vulcânica aqui registada deve-se aos movimentos tectónicos da placa africana e da eurasiática.
— O que é uma versão menos romântica da coisa.
— Sim, é — admitiu Elena.
Enquanto estavam ali parados, o Sol completou a sua descida e desapareceu.
Kowalski trocou um olhar preocupado com Elena.
— O Sol já se pôs — disse. — Sabemos o que significa.
Elena anuiu e regressou rapidamente à secretária.
Kowalski seguiu-a, arrastando as correntes nos tornozelos.
— Não me parece que vás ter uma epifania de última hora.
Depois de embarcarem, a captora de ambos — a mulher de olhar frio chamada Nehir — conduzira-os ao salão no nível superior do iate, onde alguns tripulantes descarregaram caixotes de livros. Ela trancara-os ali dentro e deixara uma simples instrução a Elena: Impressiona-me até ao pôr do sol ou ele sofre as consequências.
Aquilo era nitidamente um teste.
E cabe-me a mim pagar o preço se falharmos.
Enquanto o acorrentavam, Kowalski reparara no caixote que o gigante, Kadir, abrira e de onde retirara o braseiro, as respetivas pernas e o conjunto de ferretes. O gigante não desviara os olhos dele um segundo.
Passadas horas desde que ele o queimara com um daqueles ferretes, a coxa esquerda ainda lhe doía. Ao menos os sequestradores tinham-lhe ligado a perna, embora o gesto tivesse menos que ver com uma réstia de humanidade, calculava ele, e mais com a preocupação de que pudesse morrer prematuramente em consequência de uma infeção no sangue ou algo do género. Nada tinham feito em relação ao nariz partido, além de lhe colocarem uma tira de adesivo, e o enorme hematoma nas costas, depois de quase lhe partirem a espinha, fora simplesmente ignorado.
Às tantas porque os analgésicos devem custar uma fortuna.
Atrás de Elena, as portas duplas do salão abriram-se. Ela virou-se com um pequeno sobressalto. Observou os homens armados que guardavam o corredor e a figura monstruosa e ameaçadora de Kadir, parado ali de braços cruzados.
Nehir passou pelos homens e entrou no salão. Vestia de preto da cabeça aos pés, com um lenço a cobrir-lhe os cabelos. Vinha acompanhada de dois guardas, também armados com metralhadoras, sinal de que não tencionava correr riscos com Kowalski.
Os olhos negros dela perscrutaram o salão e fixaram-se nos livros e papéis na secretária.
— Ótimo. A formiga esteve ocupada — disse.
Elena virou-se para Kowalski com os olhos arregalados de medo. Ambos sabiam o que aconteceria a seguir.
Hora do teste.
21h06
Não estou pronta para isto.
Elena fitou a pilha de livros sem saber o que fazer. Calculava que deviam ter vindo da biblioteca subterrânea na Turquia. A coleção fora entregue sem preâmbulos ou explicações. Continha obras gregas, romanas e persas. Centenas de livros. Mal tivera tempo de os separar ou folhear, quanto mais estudá-los a fundo.
Nos caixotes, encontrara os diálogos de Platão, Timeu e Crítias, onde o filósofo grego abordava as suas teorias sobre a Atlântida. Encontrara também a tragédia Agamémnon de Ésquilo, uma visão diferente da Guerra de Troia, e a Medeia de Eurípides, a trágica história da feiticeira que se apaixonou pelo mítico guerreiro Jasão. Elena mal tivera tempo de folhear dois volumes das Histórias de Heródoto.
E estas eram apenas as obras gregas.
Ainda assim, embora não lho tivessem dito, Elena sabia o que lhe era exigido.
Nehir expressou-o com a primeira pergunta.
— Sabem porque estamos aqui? — disse acenando na direção do mar.
Elena humedeceu os lábios e levantou-se. Sentia-se melhor sem aquela mulher a pairar sobre ela.
— Aquela ilha é Vulcano, o local da mítica forja do deus Hefesto.
Nehir anuiu.
Elena desviou o olhar para os três livros que considerara mais pertinentes. Dois eram óbvios. Nehir entregara-lhe fotocópias dos cadernos recuperados no navio árabe. Elena acrescentara o volume de duas mil páginas do historiador grego Estrabão, intitulado Geografia.
Pousou a mão na cópia do diário do comandante.
— O relato de Hunayn termina abruptamente, mas ele admite ter alcançado aquilo a que chama a Forja de Hefesto. — Ergueu o olhar para Nehir. — Só pode ser esta ilha.
— Tal como o nosso Musa calculou.
— E eu devo estar aqui para vos ajudar a apanhar o seu rasto que desapareceu nos meandros da história, a fim de descobrir qual terá sido o destino seguinte de Hunayn.
— Exato — anuiu Nehir, acenando em seguida na direção dos livros e papéis na secretária. — Portanto, o que tem para me dizer?
Joe riu-se.
— A sério? Estão à espera de que ela descubra em cinco horas aquilo que vocês não descobriram em cinco séculos?
— Onze séculos, para ser exata. — Nehir pareceu pouco incomodada com o sarcasmo dele e manteve a atenção focada em Elena. — Mas estou a contar que a doutora Cargill tenha descoberto o motivo que trouxe o traidor Hunayn até aqui. Qual era o seu interesse na Forja de Hefesto?
Elena fez o melhor que pôde para responder. Pousou a mão na volumosa obra de Estrabão.
— Segundo o relato do comandante, ele tinha uma enorme admiração por Estrabão. O historiador grego não admirava Homero só pela prosa poética. À semelhança de Hunayn, acreditava que a Ilíada e a Odisseia se baseavam em acontecimentos reais. Estrabão acreditava nisto com veemência e procurou comprová-lo com algumas informações incluídas neste livro. Sabendo disso, Hunayn estudou-o a fundo, tentando encontrar as pistas que poderiam levá-lo ao destino seguinte.
— E quais foram as pistas que o trouxeram até aqui?
Elena ergueu a mão e apontou para a cópia da Odisseia de Homero.
— Hunayn sublinhou passagens do poema e tomou uma série de notas, mas parecia especialmente interessado nas criações de Hefesto. — Virou as páginas que ela própria assinalara e traduziu uma passagem em voz alta: — De cada lado estavam cães feitos de ouro e prata, que Hefesto fabricara com excecional perícia para guardarem o palácio do magnânimo Alcínoo: eram imortais e todos os seus dias eram isentos de velhice.
— Cães imortais? — perguntou Joe.
— Feitos de metais preciosos — acrescentou Elena. — Ouro e prata. Nesta passagem, Homero está nitidamente a descrever cães de metal que se moviam sozinhos, uma possibilidade que captou o interesse e a imaginação de Hunayn, o que não é de estranhar, bem entendido, dado que ele e os irmãos, os Filhos de Moisés, escreveram vários livros acerca de dispositivos mecânicos.
Nehir anuiu.
— Como O Livro dos Mecanismos Engenhosos.
— Exato. Como tal, Hunayn focou-se nas criações de Hefesto. Na margem da secção que acabei de ler, ele também acrescentou passagens da Ilíada, onde Homero refere que Hefesto dispunha de mecanismos trípodes autónomos que o ajudavam, bem como de «aias douradas que o serviam como mulheres autênticas». Também aqui, Homero descreve autómatos, incluindo mulheres mecânicas que faziam tudo o que Hefesto queria.
— Não me importava de ter um punhado dessas lá por casa — disse Joe.
Elena ignorou-o.
— É inegável que Hunayn estava obcecado com o assunto. Existem mais notas noutras passagens acerca de prodígios semelhantes. Cavalos de bronze que puxavam bigas. Uma águia de metal enviada por Zeus para torturar Prometeu por lhe roubar o fogo. Se Hunayn acreditava, à semelhança de Estrabão, que as histórias de Homero eram reais, é natural que pensasse o mesmo acerca das criações de Hefesto.
— Portanto, pensas que ele foi procurá-las — disse Joe.
Elena anuiu.
— Posso não saber para onde foi, mas sei quem procurava.
Nehir ergueu uma sobrancelha.
— A sério?
Elena procurou outra passagem assinalada na cópia da Odisseia.
— Pouco depois de abandonar o mundo subterrâneo, Odisseu foi parar a um estranho reino perdido, onde os habitantes eram «os mais longínquos dos homens, com os quais nenhum outro mortal se encontrava familiarizado». Este povo, os feácios, era tecnologicamente avançado. Os navios são descritos como «falcões, o mais veloz dos pássaros», capazes de navegar sozinhos. Um marinheiro introduzia o rumo e o navio fazia o resto. Na verdade, é assim que Odisseu regressa finalmente a Ítaca, a bordo destes navios.
Nehir não parecia impressionada.
— Estou a ver. Está convencida de que o traidor Hunayn procurava este povo. Porquê?
— Lembra-se dos cães de ouro e prata de Hefesto? No poema de Homero, Hefesto oferece-os ao rei Alcínoo. O rei dos feácios.
Nehir franziu o sobrolho. Elena prosseguiu.
— Estamos, portanto, a falar de um deus que ofereceu presentes a um povo desconhecido. Logo, quem sabe se não lhes deu muito mais? É uma pergunta que certamente intrigou Hunayn. Ele e os irmãos procuravam o conhecimento perdido de outros reinos. A viagem de Hunayn resulta de ele ter sido incumbido de descobrir quem era afinal o povo que identifica no diário como «o grande inimigo do período homérico», um povo que destruiu três civilizações de uma assentada. Ora, quem poderia ter a força e a tecnologia necessárias para isso?
Nehir fitou-a.
— Os feácios...
— Tendo em conta a determinação de Hunayn, penso que ele terá chegado à mesma conclusão. — Elena fitou Nehir de volta. — Hunayn partiu daqui à procura dos feácios. Se estiver certa, esta informação pode ajudar-nos a descobrir qual terá sido o destino seguinte.
Enquanto Nehir refletia, Elena voltou a sentar-se e mordeu o lábio. Esperava que aquilo fosse o suficiente para passar no teste.
Nehir virou-se e fez sinal a Kadir.
Oh, não...
O gigante avançou, baixando a cabeça ao cruzar a porta do salão. Elena lançou um olhar destroçado a Joe.
Desculpa...
Kadir encaminhou-se na direção da secretária. Carregava um objeto volumoso debaixo do braço, envolto em tecido. Elena calculou que devia tratar-se de mais um instrumento de tortura, outro objeto infernal para castigar Joe por ela ter falhado o teste. Em vez disso, o gigante pousou suavemente o objeto na secretária e afastou-se.
— Este é o próximo desafio — declarou Nehir.
Elena levantou-se e destapou o objeto. Ficou perplexa ao reconhecer a caixa de bronze. Tocou na superfície fria da tampa com mãos trémulas, não por medo da radiação, mas devido ao tesouro guardado no interior.
Ergueu o olhar para Nehir.
— O que querem que eu faça com...
A mulher virou costas, fez sinal a Kadir e encaminhou-se para a saída.
— Tem até ao meio-dia de amanhã, doutora Cargill. Nessa altura, espero novas informações acerca do mapa de Banu Musa. — Lançou um último olhar a Elena, e depois a Joe. — Caso contrário, o Kadir irá ensinar-vos uma dura lição.
Elena correu atrás de Nehir.
— O que me pedem é impossível, vocês sabem que o mapa não está completo!
Nehir ignorou-a e abandonou o salão com Kadir.
Elena voltou para junto da secretária e fitou o artefacto secular.
Joe foi ao seu encontro.
— Peguem nos lápis e nas borrachas, crianças. A segunda parte do teste começa agora.
Elena agarrou na caixa e levantou a tampa. No interior da caixa, o ouro e as pedras preciosas do mapa cintilaram em todo o seu esplendor. Ficou novamente perplexa e por pouco não deixou cair a tampa.
Não pode ser...
Aninhada na superfície dourada do mapa, encontrava-se uma esfera de prata decorada com símbolos e constelações, rodeada por aros longitudinais e latitudinais.
Aquilo era o astrolábio desaparecido. A Chave de Dédalo devolvida ao seu berço por um qualquer milagre.
— Isto não é nada bom — resmungou Joe.
19
24 de junho, 10h08 CEST
Cagliari, Sardenha
Espero que valha a pena...
Com passo apressado, Gray subiu a rua íngreme no coração da cidade velha de Cagliari, a capital costeira da Sardenha. Mais à frente, a avenida estreita terminava numa arcada ladeada por colunas dóricas e encimada por um entablamento decorado com um escudo de armas e as palavras REGIO ARSENALE. Aquele recanto da cidade, conhecido como Arsenal, albergara em tempos casernas militares e uma prisão.
Mas isso era passado.
Num lado da arcada pendia um estandarte preto com letras prateadas, onde se lia MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI CAGLIARI. O antigo quarteirão militar funcionava agora como o centro museológico de Cagliari.
Monsenhor Roe conduziu Gray pela arcada. Falava pelos cotovelos, à laia de guia turístico, sempre a partilhar pormenores da história da Sardenha. Ao que parecia, a segunda maior ilha do Mediterrâneo possuía um rico passado militar. Gray mal prestava atenção ao que ele dizia, sabendo que o sacerdote estava nervoso, inquieto depois de tudo o que acontecera.
Não era o único.
Seichan acompanhava-os uns metros ao lado. Mal entraram na praça escaldante, o olhar dela varreu cada centímetro do espaço.
A Piazza Arsenale borbulhava de atividade. Aos habitantes locais, ocupados com as rotinas diárias, juntavam-se os inevitáveis turistas — provavelmente grupos de passageiros dos três paquetes de cruzeiro ancorados no porto da cidade — reunidos em torno de guias que empunhavam bandeirolas ou sombrinhas. Bandos de gaivotas gritavam no céu. No chão, os pombos saltitavam por entre os pés das pessoas.
A agitação tinha o seu lado positivo, dado que permitia ao grupo camuflar-se na multidão.
A necessidade de desaparecerem tinha sido decidida por Gray na sequência do ataque ao palácio, tanto para decidirem estratégias como para ocultarem o facto de terem sobrevivido ao bombardeamento. Monsenhor Roe recomendara que fossem para Cagliari, a duzentas milhas náuticas de distância. O grupo navegara dezasseis horas numa traineira de pesca, comandada por um velho amigo do sacerdote, e tinham atracado na Sardenha naquela manhã.
Os outros estavam ainda escondidos num pequeno hotel costeiro. Gray deixara Maria e Mac, ambos de olhar ausente e ainda em choque, a retemperar as forças em volta de canecas de café. O padre Bailey regressara ao estudo do precioso mapa de Da Vinci, e o major Bossard guardava-os a todos.
Sem saber em quem confiar, nem quais as agências que podiam estar a passar informações ao inimigo, Gray precisava que o grupo permanecesse invisível. Chegara ao ponto de remover a bateria do telefone satélite e depois comprara dois telemóveis descartáveis num quiosque no terminal de cruzeiros. Deixara um deles com Maria e levara o outro. Era o máximo que podia fazer. Até a situação se alterar, teriam de viver como fantasmas.
Junto aos degraus do museu, Gray interrompeu finalmente o sacerdote.
— Monsenhor Roe, o que viemos aqui fazer, ao certo?
Gray não se referia apenas ao museu. Havia seguramente uma razão para Roe ter sugerido a Sardenha. Gray não lhe perguntara. No que dizia respeito a esconderijos, a ilha seria tão boa como outro lugar qualquer. Além disso, o monsenhor estava obviamente exausto e atormentado ao ver a sua casa, o lugar onde nascera, destruída. Também perdera um número incontável de amigos e colegas, para não falar do trabalho de uma vida, o Santo Scrinium, que provavelmente não poderia ser recuperado.
Em virtude disso, Gray concedera alguma margem de manobra ao sacerdote, mas agora queria respostas, pressentindo que existia uma intenção objetiva por detrás da sua recomendação.
Roe fitou a entrada do museu, com a mão a proteger os olhos do sol.
— Sì — anuiu —, tenho aqui um amigo de longa data, a quem posso confiar a minha vida. Se quiser conhecer o nosso inimigo, o meu amigo pode ajudar-nos.
— Como assim, como é que alguém pode saber quem nos atacou ontem?
— Não, compreendeu-me mal, comandante Pierce. O meu amigo não pode ajudar-nos nesse aspeto, embora eu tenha pensado muito nisso durante a viagem até aqui. Quase não dormi no barco. Não posso dizer que esteja habituado ao mar.
Gray calculava que as ondas pouco tinham que ver com as insónias do padre.
— Depois de muita reflexão, talvez tenha algumas respostas — admitiu Roe, timidamente. — Ou, melhor dizendo, talvez tenha um palpite.
Sem desviar o olhar da praça, Seichan juntou-se a ambos.
— Aceito um palpite, padre, se isso nos ajudar a encontrar esses monstros.
Roe deu-lhe uma palmadinha no braço. Quase parecia que era Seichan quem precisava de consolo.
— Ontem à noite, pensei muito no que me contou, comandante Pierce. Acerca dos acontecimentos na Gronelândia, dos horrores testemunhados pelo doutor MacNab. Parece-me estranha a facilidade com que o inimigo abandonou o local sem o astrolábio, ou a Chave de Dédalo, como lhe chamam. Não faz sentido terem fugido com o mapa incompleto.
— As coisas aconteceram muito depressa — disse Gray. — A equipa de assalto foi praticamente dizimada.
— Talvez, mas referiu que falavam árabe e pareciam saber muito mais do que qualquer um de nós.
— Onde quer chegar, ao certo? — perguntou Seichan.
— Lembram-se das fotografias do único astrolábio esférico conhecido à data? Foi também criado no Médio Oriente por um homem chamado Musa. É em tudo semelhante ao astrolábio recuperado pelo doutor MacNab. Ora, isso levou-me a pensar se o exemplar no museu de Oxford não poderá ser uma réplica da Chave de Dédalo. Se bem se recordam, os esquemas que Da Vinci usou para construir a sua versão do mapa não continham instruções para o astrolábio. Essa página tinha sido arrancada.
Gray inspirou fundo.
— Está a sugerir que essa página, ou parte dela, pode estar nas mãos de alguém e que essa pessoa pode usá-la para construir uma réplica da Chave de Dédalo?
— Ou já construiu.
Se o monsenhor estivesse certo, o inimigo podia ter nas mãos as duas peças do puzzle: o mapa original de Banu Musa e uma cópia funcional do astrolábio.
Roe encolheu os ombros.
— Como vos disse, isto não passa de um palpite ou um delírio de um padre cansado. Seja como for, o astrolábio de Oxford foi criado em 885, ou em 1480 segundo o calendário gregoriano. Se alguém quer reproduzir a Chave de Dédalo, anda a tentar fazê-lo há séculos. Isso sugere, se estiver certo, que alguém, provavelmente uma sociedade secreta, preservou esse conhecimento e que o nosso inimigo poderá pertencer a esse grupo, dado que parece saber muito mais do que nós.
— É uma boa teoria — admitiu Gray. Fitou Roe, confrontado uma vez mais com as semelhanças entre o monsenhor e o velho amigo, Vigor Verona. Não eram apenas físicas. O velho padre possuía uma mente igualmente perspicaz.
Seichan acenou na direção da entrada do museu.
— Isso é tudo muito bonito, mas o que viemos fazer aqui? — perguntou, acenando na direção da entrada do museu. — E o que significa «conhecer o inimigo», quando isso não se aplica necessariamente ao grupo que nos atacou?
Roe ergueu o rosto para o céu e semicerrou os olhos.
— Está a ficar quente. Vamos procurar as respostas lá dentro, onde está mais fresco.
Gray limpou a testa transpirada, grato pela sugestão.
Um homem inteligente, sem dúvida.
10h22
Seichan aguardou no átrio fresco do museu. O ar condicionado sabia-lhe bem, mas continuava sem saber o que estava a fazer ali. A ponta do pé batia impaciente no chão de pedra. Gostava de atribuir os nervos à descarga de adrenalina do dia anterior, mas não acreditava que tivesse alguma coisa que ver com o ataque.
Antes de deixar o continente com pouco mais do que a roupa no corpo, comprara uma nova bomba de leite, porém, na pressa de sair, apenas conseguira arranjar uma bomba manual. A bordo da traineira, na privacidade da cabina, Gray ajudara-a a usar o maldito dispositivo, uma situação que se revelara por demais constrangedora, sem qualquer ponta de erotismo. Posto de outro modo, a experiência não podia ter sido mais humilhante.
Como ordenhar uma vaca.
Em todo o caso, a vergonha não resultava do orgulho ferido. Gray mostrara-se compreensivo e paciente. O toque dele tinha sido delicado, as palavras encorajadoras. Não, a vergonha advinha da consciência de saber quem tinha sido no passado, alguém treinado para ser uma arma mortífera, alguém que sabia movimentar-se em silêncio e com destreza, convencendo-se, nesses momentos, de que conseguia ser mais sombra do que substância. No calor da batalha, ela era alguém capaz de sentir cada fibra dos seus músculos, cada terminação nervosa à flor da pele.
E agora sou exatamente o quê?
Mesmo naquele momento, em plena missão, o corpo parecia revoltar-se, como que obrigado a retomar um papel que não sabia se continuava a desejar. O corpo não lhe permitia regressar ao que era, à condição de sombra. Era como se a substância se recusasse a ser ignorada.
Abanou os braços e tentou dissipar a tensão, mas sabia que o problema não era esse.
Indiferente à sua vontade, veio-lhe à mente a imagem do cabelo molhado de Jack, ainda coberto de bolhas de espuma do banho. A recordação invadiu-a como uma torrente e encheu-lhe o nariz com o aroma de champô de bebé, do seu hálito a cheirar a leite. Apesar de se encontrar a milhares de quilómetros de distância, ele continuava com ela, omnipresente.
Fechou os olhos.
Sabia que aquela era a verdadeira razão de toda a sua ansiedade desmedida. Obrigada a esconder-se, não pudera sequer avisar Kat. Não tivera oportunidade de lhe perguntar pelo bebé, de se certificar de que ele estava bem. Não contara que isso a afligisse daquela maneira.
Gray tocou-lhe no braço.
— Estás bem?
O toque dele sobressaltou-a, mas disfarçou e limitou-se a acenar com a cabeça.
— Parece que o monsenhor está de volta — disse Gray.
No outro lado do átrio, o sacerdote avançou por entre a multidão. Vinha acompanhado. O homem de óculos, cabelo grisalho e sorriso afável devia ter uns sessenta anos e vestia uma bata branca do museu.
Monsenhor Roe apresentou-o. O que disse foi de certa forma inesperado.
— Este é o rabino Fine.
O recém-chegado apertou as mãos de Gray e Seichan.
— Dispensemos as formalidades e chamem-me Howard. Sobretudo quando o Sebastian me diz que precisam de falar comigo acerca de assuntos de natureza arqueológica. — O rabino fez um gesto largo. — E quanto a isso, escusado será dizer que estão no lugar certo.
Roe sorriu.
— O Howard e eu fomos colegas de faculdade. Também trabalhámos juntos em Roma, num projeto de conservação de catacumbas judaicas.
— No tempo em que eu era um arqueólogo ao serviço da Autoridade de Antiguidades de Israel — explicou o rabino. — Depois disso, cada um de nós seguiu o seu caminho, mas continuámos a guardar um lugar especial no coração para os assuntos da história. Na verdade, supervisionei várias escavações na Sardenha respeitantes às tribos nurágicas, um povo da Idade do Bronze que ocupou esta ilha durante dezasseis séculos.
— O Howard não é apenas um homem de Deus — acrescentou Roe —, também é doutorado em arqueologia e antropologia. Como tal, vou deixar que ele nos conduza a partir daqui.
Gray franziu o sobrolho.
— Onde é que vamos...
Howard virou costas e encaminhou-se para uma escadaria larga.
— Se bem entendi o pedido do Sebastian, é melhor começarmos pelo segundo piso.
Roe deixou o amigo seguir à frente e virou-se para trás.
— Eu disse-lhe que queríamos informações acerca de um velho inimigo. Não se preocupem. Fui discreto.
Seichan trocou um olhar com Gray.
Para o nosso bem, espero que isso seja verdade.
Gray caminhou ao lado do monsenhor.
— Que velho inimigo?
Roe abrandou o passo.
— O inimigo mencionado nos esquemas que Da Vinci usou para construir o mapa dourado. O mesmo que os irmãos Banu Musa acreditavam habitar o Tártaro e que travara uma guerra contra três civilizações em simultâneo, destruindo-as, dando assim início ao Período Homérico.
— E o que tem isso que ver com a Sardenha? — perguntou Seichan.
— Porque penso que o inimigo veio primeiro aqui — explicou Roe, acelerando o passo para apanhar o amigo. — O Howard será capaz de vos explicar melhor.
Seichan alternou o olhar entre os dois sacerdotes.
Um católico, o outro judeu.
E estamos a ser perseguidos por árabes, provavelmente muçulmanos.
Ao menos, as três principais religiões da região estavam devidamente representadas.
O rabino conduziu o grupo até ao segundo piso e começou por mostrar uma laje de pedra, com cerca de um metro e meio, coberta de inscrições.
— Esta é a Estela de Nora — explicou Howard. — Um tesouro do nosso museu. Data do século oitavo ou nono a.C.
Roe ergueu uma sobrancelha.
— Posto de outro modo, foi criada em pleno Período Homérico.
Howard virou-se na direção da laje.
— A inscrição é um dos exemplos mais antigos de escrita fenícia. Não está completa, mas a melhor tradução diz-nos que uma grande guerra foi travada nestas costas. A guerra foi travada entre o povo nurágico e um inimigo poderoso, e conduziu a uma imensa devastação.
Seichan lançou um olhar a Roe, que parecia muito contente consigo mesmo.
— E quem era o inimigo? — perguntou.
Howard sorriu.
— Essa é a grande pergunta e um mistério que tento decifrar há muito.
Tu e um grupo de assassinos.
— Uma das razões por que aqui estou, no museu, é precisamente para supervisionar a instalação de uma exposição sobre o assunto. — O rabino fez sinal ao grupo, indicando que se dirigissem para uma sala cuja entrada estava vedada com um cordão e tapada com cortinas de plástico. — A exposição que estamos a preparar é sobre os Povos do Mar.
Seichan franziu o sobrolho e seguiu o rabino até à pequena divisão do outro lado das cortinas de plástico. No centro do espaço, encontravam-se duas filas de expositores, a maioria vazios. Alguns continham armas de bronze e pequenas estatuetas, mas Howard conduziu o grupo até à parede mais afastada, onde estavam a ser penduradas imagens.
— À semelhança de boa parte da história do Período Homérico, sabemos muito pouco acerca dos Povos do Mar — explicou o rabino. — Dito isto, a própria montagem desta exposição tem-se revelado um desafio. Tudo o que realmente sabemos é que estes povos faziam parte de uma confederação de marinheiros e eram provavelmente originários da região ocidental do Mediterrâneo. Porém, independentemente de quem fossem, quando chegaram à metade oriental do Mediterrâneo, destruíram civilizações atrás de civilizações, abrindo caminho a séculos de escuridão.
— O Período Homérico — anuiu Gray.
— Exato. — Howard chamou a atenção do grupo para um ecrã na parede. — Este mapa exibe a progressão destas conquistas. Dá-nos uma boa ideia da dimensão do ataque levado a cabo pelos Povos do Mar.
Ao lado de Gray, Seichan inclinou-se para ver melhor. Estudou a quantidade de setas que indicavam as vagas de ataques à Grécia, ao Médio Oriente e ao Egito. Se as datas estivessem corretas, todos os reinos do Mediterrâneo tinham sido aniquilados em menos de vinte anos. Aquilo era uma invasão em larga escala, e todas as vagas provinham do ocidente.
Howard prosseguiu.
— Embora escassos, os relatos mais completos desta guerra foram-nos deixados pelos egípcios, que sofreram uma pesada derrota. O fulcro de todas as histórias, que não podemos dizer que sejam ricas em pormenores, é sobretudo a ideia de um terror absoluto. Venham, eu mostro-vos.
Howard conduziu o grupo até outro ecrã que exibia uma série de hieróglifos egípcios. Tratava-se da representação de uma batalha caótica em terra e no mar, com os soldados egípcios a lutarem e a morrerem às centenas.
— Estes hieróglifos foram descobertos num templo perto de Luxor. É impressionante como captam o terror vivido de uma forma tão eloquente e bela, mas, mais importante, conseguem perceber o que os hieróglifos não mostram?
Seichan franziu o sobrolho, mas Gray percebeu imediatamente.
— O inimigo não aparece, os hieróglifos só mostram os soldados egípcios a lutarem contra uma força que não conhecemos.
— Os egípcios eram um povo supersticioso — explicou Howard. — Depositavam muita fé na sua iconografia. Acho que tiveram demasiado medo de mostrar a face do inimigo, de revelar a sua identidade às gerações futuras.
Seichan recordou as descrições de Mac e Maria acerca do horror libertado no porão do navio encalhado.
Não admira que os egípcios não quisessem deixar qualquer representação de um inimigo semelhante.
Roe interveio.
— Mas talvez tenha havido alguém que tentou revelar a verdadeira face deste inimigo.
O próprio Howard pareceu surpreendido pela sugestão do amigo.
Roe apontou para cima.
— Mostra-lhes os gigantes.
10h38
C’os diabos...
Boquiaberto, Gray precisou de alguns segundos para absorver o que via. Não deixou escapar um palavrão porque estava na presença de dois sacerdotes. A instalação ocupava a maioria do terceiro piso do museu arqueológico, onde enormes expositores verticais e pedestais acomodavam uma série de estátuas.
Howard apresentou a coleção com um certo dramatismo, o que se justificava.
— Apresento-vos os Kolossoi — disse, com um gesto largo. — Os Gigantes do Monte Prama.
Gray alternou o olhar entre Seichan e Roe. Percebia finalmente por que razão o monsenhor os trouxera para a Sardenha e porque não adiantara pormenores.
Isto é uma coisa que precisa de ser vista ao vivo e a cores.
Howard conduziu-os pela exposição.
— Estes gigantescos guerreiros de arenito foram descobertos enterrados e partidos na costa oeste da ilha, ao longo da península de Sinis. Calculamos que terão existido cerca de quarenta e quatro figuras, mas só recuperámos pouco mais de metade.
Gray aproximou-se de uma das estátuas. Tinha o dobro da sua altura e parecia representar a figura de um arqueiro preparado para a batalha. O guerreiro ao lado empunhava uma espada e o que se encontrava a seguir erguia dois punhos enormes, à semelhança de um pugilista.
— Temos algumas dúvidas em relação à idade das figuras — admitiu Howard. — Mas existe o consenso de que foram criadas pelo povo nurágico durante o Período Homérico, provavelmente logo após a invasão dos Povos do Mar.
— E para que serviam? — perguntou Seichan.
— Pensamos que são guardiões sagrados — disse Howard. — Foram desenterrados nas ruínas de uma vasta necrópole no sopé do monte Prama. Acredita-se que serviam para guardar os mortos, possivelmente os corpos dos homens e mulheres assassinados pelos Povos do Mar.
Roe anuiu.
— O monte Prama situa-se na costa oeste. É como se os gigantes tivessem sido ali colocados para vigiar os mares e rechaçar um possível regresso do inimigo.
Gray compreendia o raciocínio do monsenhor, dado que consubstanciava a teoria de que o inimigo viera dessa direção.
— Existe um sem-número de rumores e mitos acerca destas figuras — prosseguiu Howard. — Temos textos que dizem que as estátuas ganhariam vida em caso de um novo ataque à Sardenha. Deixariam cair os invólucros de pedra, revelando as armaduras de bronze, e depois lançariam pedregulhos sobre os invasores do cimo do monte Prama.
Gray imaginou as versões de bronze daqueles guerreiros e sentiu um arrepio de pavor — não porque eles pudessem voltar à vida, mas pelo que aquela história implicava, especialmente considerando o estranho aspeto dos gigantes. Lembrava-se da descrição de Mac acerca da besta de bronze que despedaçara o casco do navio encalhado.
O que Roe disse a seguir agravou a sua inquietação.
— Outro mito sugere que as figuras foram esculpidas à semelhança dos atacantes. Isto serviria para confundir o inimigo, levando-o a pensar que esta ilha já tinha sido conquistada, o que evitaria um novo desembarque.
Gray trocou um olhar com Seichan, que não parecia menos perturbada que ele. Desviou o olhar e estudou a cabeça do gigante em exposição. As feições eram planas, com ranhuras a demarcar o nariz e a boca. A testa era invulgarmente alongada, com uma espécie de maçaneta ou botão no cimo da cabeça, mas o que causava verdadeiro desconforto eram os olhos, perfeitos anéis concêntricos, inexpressivos, fitando o vazio. Gray tentou imaginar como seriam as hipotéticas versões de bronze.
Será este o verdadeiro rosto do inimigo? Ou, pelo menos, uma representação dos seus prodígios mecânicos?
Monsenhor Roe prosseguiu.
— Tudo isto sugere que as tribos nurágicas acreditavam num possível regresso do inimigo.
Gray recordou novamente as palavras de Mac.
Podemos dar como certo que algo anda por aí.
— Mas esta não é a única razão por que sugeri a Sardenha — disse Roe, desviando a atenção de Gray. — Há ainda a questão dos milhares de estruturas espalhadas por esta a ilha, os misteriosos nuragues.
— O que é isso? — perguntou Seichan.
Howard encarregou-se de explicar.
— São fortalezas de pedra construídas há milhares de anos pelas tribos nurágicas. Existem milhares de ruínas por toda a ilha. Algumas continuam de pé pelo simples facto de que são autênticos prodígios de engenharia, algo que não esperaríamos ver em povos da Idade do Bronze.
Posto de outro modo, pensou Gray, foram construídas com tecnologia demasiado avançada para a época.
Roe aproximou-se e inclinou-se na sua direção.
— Importa saber que os gregos antigos tinham outro nome para estas fortalezas. Chamavam-lhes daidaleia.
Gray fitou o sacerdote.
— De Dédalo — confirmou Howard. — O mestre artesão dos gregos, criador do labirinto de Creta, que servia de prisão ao Minotauro, e pai de Ícaro, o rapaz que morreu ao voar demasiado perto do Sol.
E ainda o homem que deu o nome à chave do mapa dourado.
— Não percebo — disse Seichan. — Porque é que essas antigas fortalezas receberam o nome de Dédalo?
— Porque a Sardenha era a sua pátria — respondeu Roe.
20
24 de junho, 11h14 CEST
Mar Tirreno
Não vou conseguir.
Elena consultou o relógio na parede do salão. Perdera a conta às vezes que o fizera. O sol forte refletido no mar provocava-lhe dores de cabeça. O meio-dia aproximava-se a passos largos e com ele o final do prazo estabelecido por Nehir. Queimara as pestanas a noite inteira, com exceção dos minutos que dormitara no sofá quando já não conseguia manter os olhos abertos.
Joe fizera-lhe companhia, mas, quando as palavras foram substituídas por um ronco forte, ela mandara-o embora. Empurrara-o praticamente para as mãos dos guardas no corredor, tal a necessidade de se concentrar.
Ao nascer do dia, Joe regressara com o pequeno-almoço. Por essa altura, as pilhas de livros na secretária haviam duplicado.
Naquele momento, ele andava de um lado para o outro, sempre a arrastar as correntes, a que juntava o ocasional gemido, grunhido ou uma careta, sinal de que ainda lhe doía a queimadura na perna.
Elena sentiu-se culpada.
E se não resolver isto, ele vai sofrer ainda mais.
Joe continuou a arrastar as correntes e a queixar-se.
— Por favor, importas-te de parar com isso? — pediu ela, incapaz de aguentar mais um segundo daquele tormento.
— Desculpa — disse Joe, com um encolher de ombros. Tentou escapulir-se em silêncio na direção do sofá, mas o chocalhar das correntes acompanhou-o. Sentou-se e perguntou: — Como é que isso vai?
Elena limitou-se a pousar a testa em cima das mãos.
— Se falares, talvez ajude — sugeriu ele. — O Gray gosta de pensar nos problemas em voz alta.
Elena não sabia quem era esse Gray, mas talvez ele tivesse razão. Desviou o olhar na direção dos três cones vulcânicos da ilha. Passara a maior parte da noite a ler sobre Hefesto, o deus da forja. Estudara todas as referências que encontrara acerca das suas criações, que eram mais que muitas. Hefesto criara setas que nunca falhavam o alvo para a grande caçadora Artemisa, desenvolvera armaduras para inúmeros heróis gregos, incluindo o famoso Aquiles, mas a atenção dela centrara-se nos engenhos autónomos do profícuo deus. Tinha muito por onde escolher. Hefesto construíra um templo para Apolo, o deus da música, e apetrechara-o com seis Keledones Chryseai, donzelas de ouro que cantavam a pedido. Para o rei Minos, o artífice criara um cão de caça em bronze, chamado Laelaps. Segundo As Argonáuticas de Apolónio, Hefesto concebera um exército de guerreiros de bronze que, uma vez ativado, mataria indiscriminadamente qualquer inimigo até ser destruído.
Mas havia duas criações que Elena considerara mais intrigantes, dado que, a acreditar em Joe, eram em tudo idênticas às máquinas assassinas que Mac enfrentara.
— Vou ler-te uma passagem que encontrei — disse, retirando da pilha de papéis algumas páginas do poema épico de Apolónio de Rodes. Procurou a passagem que assinalara e começou a traduzi-la: — «E o deus artífice Hefesto apetrechara o palácio de Eetes com um par de touros com pés e focinhos de bronze, de onde cuspiam terríveis labaredas.»
Joe endireitou as costas.
— Isso é muito parecido com a criatura que atacou a Maria e o Mac.
Elena também acreditava que vislumbrara a criatura e retinha a imagem de uma figura cornuda, furiosa, que emergira por entre o fumo do navio em chamas, antes de os atacantes fugirem da caverna.
— Chamavam-se Khalkotauroi — explicou Elena —, os touros da Cólquida. Criaturas terríveis com corpos de bronze, cornos de prata e olhos de rubi. Jasão acabaria por domá-los, apagando-lhes as chamas com uma poção negra oferecida pela feiticeira Medeia, «uma poderosa substância chamada Sangue Prometeico».
Joe lançou-lhe um olhar confuso.
Elena suspirou.
— O Mac disse que os caranguejos de bronze estavam preservados em vasilhas cheias de óleo negro, lembras-te? E que usou esse óleo para apagar as chamas que os alimentavam.
Joe anuiu lentamente.
— E temos a história de Talos, o gigante de bronze que guardava a ilha de Creta. Outra criação de Hefesto. O poeta grego, Simónides de Ceos, descreveu o gigante como um phylax empsychos, um «guardião animado». Talos patrulhava a ilha e lançava pedregulhos sobre quem ameaçasse Creta.
— Parece-me animação suficiente — observou Joe.
— Mas há dois pormenores que considero mais relevantes. Primeiro, o gigante Talos também matava os inimigos segurando-os contra o peito de bronze e queimando-os vivos com o calor do fogo que ardia dentro dele.
— O que é mais ou menos o que os caranguejos tentavam fazer.
Elena anuiu.
— E também diz aqui que o gigante funcionava com um fluido oleoso que, depois de inflamado, não podia ser apagado. O que coincide com o relato do Mac.
— Se estiveres certa, o Mac não foi com certeza o único que teve um encontro com essas criaturas. — Joe levantou-se e aproximou-se dela. — Deve ter havido outros que passaram pela mesma experiência.
— E essas experiências deram origem aos mitos que conhecemos.
Enquanto arqueóloga, Elena sabia que muitos mitos se baseavam em grãos de verdade.
— Bom, mas isso ajuda-nos como? — perguntou Joe, virando-se na direção do relógio na parede.
— Não ajuda — admitiu ela.
Nehir aguardava novas informações acerca do mapa dourado, qualquer coisa que permitisse descobrir a rota traçada por Hunayn depois de abandonar a ilha de Vulcano.
Elena levantou-se e abriu a caixa do mapa. As linhas costeiras douradas brilhavam em torno do azul profundo do mar de lápis-lazúli, mas ela focou a sua atenção no astrolábio de prata. Sabia que não era o exemplar recuperado no navio, aquele era demasiado novo.
Alguém construiu uma réplica.
Na noite anterior, ela e Joe tinham acionado o mapa. Conscientes do risco da exposição à radiação emitida pelo dispositivo, tinham recuado uns passos. Ouviram o movimento de engrenagens, a caixa zumbiu e, tal como antes, o barquinho de prata — provavelmente uma representação do navio de Odisseu — abandonou o porto de Troia. Navegou uns centímetros pelo mar Egeu, parou e, também como antes, começou a andar às voltas sem sair do sítio.
Tentaram outras vezes ao longo da noite, mas o resultado foi idêntico e desistiram. Não valia a pena exporem-se à radiação para nada.
Porém...
Elena pegou no astrolábio com as duas mãos e retirou-o do encaixe. Ainda não experimentara aquilo, mas já estava por tudo.
— Cuidado — avisou Joe. — Se o partires...
— Chiu.
Elena pressentia que havia ali qualquer coisa importante, algo que escapava à sua mente cansada. Observou a engenhoca mais de perto, rodando-a com a mão. Reparou nos minúsculos orifícios dispersos ao longo da superfície. Calculou que pudessem servir para ventilar o mecanismo.
Espera...
Mudou a esfera de mão. Pegou na cópia do diário de Hunayn, abriu-o nas últimas páginas e leu uma passagem do texto:
— «No entanto, apenas eu fiquei responsável por guardar os raios da Estrela Polar, as três ferramentas necessárias para revelar o verdadeiro rumo entre os vários falsos que incluímos no mapa.»
Arregalou os olhos e endireitou-se.
— Meu Deus, sou mesmo parva! — Estendeu a mão com o astrolábio. — Toma, segura nisto!
Joe pegou na esfera com uma expressão inquieta. Parecia que ela lhe passara uma cobra enrolada.
Elena enfiou a mão no bolso e retirou as três agulhas que tinham caído do diário original. Hunayn não tinha protegido apenas os dois cadernos.
— O que é isso? — perguntou Joe, quando ela se aproximou com as agulhas.
— «Os raios da Estrela Polar» — respondeu Elena, repetindo as palavras de Hunayn. — Como arqueóloga náutica, eu tinha obrigação de ter percebido isto antes. A Estrela Polar é uma das mais antigas ferramentas de auxílio à navegação.
— E qual é a importância disso?
Elena ignorou a pergunta e estudou as minúsculas bandeirolas nas pontas das agulhas. Cada uma exibia um símbolo árabe. Verificou em seguida o astrolábio, procurando os mesmos símbolos nos orifícios.
— Bingo! — murmurou ao encontrar o primeiro símbolo.
Com cuidado, inseriu a agulha correspondente. Continuou à procura, encontrou mais um símbolo e enfiou outra agulha.
— Os astrolábios são construídos com base na latitude do utilizador e fixando a posição da Estrela Polar no centro — explicou, enquanto procurava o terceiro e último símbolo. Bateu com a ponta do dedo na esfera de prata. — Mas esta regra não se aplica aos astrolábios esféricos. Estes são instrumentos universais. Podem ser calibrados a qualquer altura, o que permite que funcionem em qualquer latitude.
— Como?
Elena descobriu o símbolo que faltava e inseriu a última agulha.
— Exatamente como estou a fazer. Basta inserir as agulhas necessárias nos orifícios correspondentes, o que permite anular a configuração anterior e usar uma nova.
Para traçar o rumo correto.
Elena pegou no astrolábio e encaixou-o novamente no mapa. Engoliu em seco e lançou um olhar a Joe.
Experimentamos?
Joe anuiu.
— Afasta-te — avisou ela, e acionou a alavanca do mapa.
11h34
Aqui vamos nós...
Kowalski susteve a respiração e deu dois passos atrás. Receava que a maldita engenhoca explodisse na cara de ambos e deu por si a segurar na mão de Elena. Ela tremia, mas seria de medo ou de excitação?
A caixa do mapa zumbiu. O astrolábio rodou para um lado e depois para o outro. Os aros moveram-se numa elaborada coreografia.
— Olha o barco — murmurou Elena, fascinada. — Acho que está a resultar.
O barquinho de prata deslizou pela pedra azul. Atravessou o mar Egeu, parou brevemente em algumas ilhas e prosseguiu viagem.
— Aposto que estes são os portos que Hunayn julgava terem sido visitados por Odisseu. Aquele último era capaz de ser a ilha dos Ciclopes ou a casa da feiticeira Circe, quem sabe?
Kowalski viu o barco abandonar o mar Egeu e contornar a extremidade sul da Grécia. Nesse ponto, virou de repente e avançou desgovernado na direção do mar Jónico.
Elena apontou para o barco.
— Acho que isto foi o momento em que os homens de Odisseu abriram o saco de ventos oferecido pelo rei Éolo, convencidos de que estava cheio de ouro. Os ventos que libertaram empurraram o navio para longe da Grécia.
Finalmente, o barco de prata estabilizou ao contornar a ponta da bota de Itália e a Sicília. A partir daí, seguiu na direção de um conjunto de pequenas ilhas douradas assinaladas com rubis.
Vulcano.
Kowalski e Elena viraram-se ambos na direção dos cones vulcânicos para lá das janelas do iate. Ele quase esperava ver passar um navio de prata a caminho da ilha.
— Acho que podemos dar como certo que o navio árabe passou por aqui — disse Kowalski, voltando-se novamente para o mapa.
Elena apertou-lhe a mão.
Ambos sustiveram a respiração.
Para onde irá a seguir?
O barco de prata, porém, ficou no mesmo sítio.
Kowalski expirou, assumindo a derrota e incapaz de continuar a prender a respiração.
— Será que se avariou?
Elena abanou a cabeça. Não queria acreditar nessa hipótese.
— Se calhar, temos de introduzir novas coordenadas, mover as agulhas para...
A caixa do mapa estremeceu na secretária. Kowalski e Elena saltaram para trás. O zumbido intensificou-se até se converter num assobio. Ato contínuo, a superfície azul do mar Mediterrâneo estilhaçou-se, formando uma teia de fendas a partir das ilhas vulcânicas. Pelas fendas libertou-se uma espécie de vapor sulfuroso.
Kowalski puxou Elena pela mão.
— Vai explodir!
— Não... — Elena libertou-se e aproximou-se do mapa. Estudou o labirinto de fendas que deixavam sair vapor e se intercetavam ao longo do mar azul. — Isto são os «rumos falsos do mapa». Tal como Hunayn escreveu.
Curioso, Kowalski juntou-se a ela.
Como por magia, as fendas repararam-se sozinhas, apagando as falsas rotas e devolvendo à placa de lápis-lazúli o aspeto original.
Exceto por um pormenor. Uma das fendas permaneceu aberta e até alargou mais um pouco.
O vapor foi substituído por chamas douradas alimentadas por um qualquer combustível no interior do mapa. Formavam um rio flamejante que se estendia das costas da ilha Vulcano, atravessando o mar Tirreno até alcançar a ponta sul da Sardenha e prolongando-se depois até à costa norte de África em direção a oeste.
Elena aproximou-se mais um pouco, indiferente ao calor e ao risco da radiação.
— Dir-se-ia uma representação das placas tectónicas. Repara como...
— Está a deslocar-se outra vez — disse Kowalski, chamando-lhe novamente a atenção para o barco.
Na ponta da ilha de Vulcano, assinalada por um rubi, o barco de prata deslocou-se ao longo daquele rio flamejante. As chamas camuflavam o progresso, mas a dada altura o barco de prata emergiu do fogo dourado e parou junto à costa da Sardenha. Retomou a viagem e prosseguiu para sul na direção de África.
Kowalski estudou o curso das chamas. Continuava ao longo da costa africana, passando pelo estreito de Gibraltar.
Onde é que...
Ouviu-se uma voz no lado de fora das portas do salão.
Merda.
Debruçou-se rapidamente sobre o mapa e consultou o relógio na parede.
Ela chegou mais cedo.
Acionou a alavanca na lateral da caixa e fechou a tampa. Sentiu a vibração do mecanismo a diminuir, ao mesmo tempo que o zumbido se desvanecia.
— Vá lá, desliga-te — resmungou. Virou-se para Elena. — Não lhes dizemos uma palavra. Eles não podem saber o que descobrimos.
Elena arregalou os olhos, o fascínio substituído pelo medo.
— Mas... — Acenou na direção da perna dele. — Eles vão...
— Não te preocupes, eu aguento.
Kowalski virou-se a tempo de ver as portas abrirem-se. Nehir entrou no salão, seguida pelo gigante Kadir.
Pelo menos, espero aguentar.
11h58
Com o corpo a tremer de nervosismo e fazendo o possível por não olhar para a caixa do mapa, Elena viu Nehir aproximar-se. O gigante ficou junto à porta.
O que é que eu faço?
A sensação de triunfo de instantes antes esmoreceu de vez. Pior que isso, sabia que o seu silêncio traria consequências a Joe.
Partindo do princípio de que conseguimos manter isto em segredo.
Ao aproximar-se da secretária, Nehir franziu o nariz.
— É impressão minha ou cheira a queimado?
Elena ficou petrificada. Inebriada pela excitação de ter descoberto para que serviam as agulhas do astrolábio, nem sequer pensara em não ativar o mapa. Não acreditava na possibilidade de existirem câmaras escondidas no salão do iate. A pergunta de Nehir parecia confirmar isso mesmo, o que indicava algum excesso de confiança por parte da mulher, que pelos vistos julgava ter a situação sob controlo.
E agora? Seria capaz de impedir que ela descobrisse o que tinham feito?
Engoliu em seco, sem saber o que responder.
Joe tomou a iniciativa e deu um passo em frente, colocando-se entre Nehir e o mapa.
— Se não gosta do cheiro de carne queimada, talvez seja melhor dizer ali ao brutamontes para brincar com outra coisa sem ser os ferros em brasa.
Joe virou-se ligeiramente e massajou a coxa, lançando ao mesmo tempo um olhar preocupado a Elena.
Nehir contornou-o.
— Isso vai depender do que a doutora Cargill tem para me mostrar.
Elena disfarçou o alívio, mas o facto de Nehir não saber o que acontecera não impedia o que podia acontecer a seguir.
— Se tivesse mais tempo... — disse, abrindo e fechando nervosamente as mãos.
— Mas não tem — respondeu Nehir. A mulher acenou na direção de Kadir. — O meu irmão é muito impaciente, sabe? Se a doutora não tiver nada para nos mostrar, serei obrigada a arranjar outra distração para todos. Mas fique descansada. Vai poder assistir, caso esteja preocupada com isso.
Elena sentiu o sangue fugir-lhe do rosto, mais ainda quando Nehir a empurrou para alcançar a caixa.
— Como lhe disse ontem, preciso da sua valiosa opinião acerca do mapa de Banu Musa, que nos diga onde devemos procurar a seguir.
— Não sei se serei capaz de...
Nehir tocou na lateral da caixa. Depois, pousou a mão em cima da tampa.
— Porque é que isto está quente?
Elena aclarou a garganta, à procura de uma desculpa.
— Nós... nós tentamos ativar o mapa. Várias vezes, esta manhã. Para ver se ajudava.
Nehir anuiu.
— E...?
Elena abriu a boca, mas as palavras não saíram. Não se lembrava de nada que pudesse dizer, nada que impedisse a mulher de abrir a caixa. Rigorosamente nada.
Nehir levantou a tampa.
Elena cerrou os dentes. Esticou-se nas pontas dos pés para ver melhor o mapa, receando o pior, contando ser confrontada com as chamas e com a derrota. Em vez disso, a placa de lápis-lazúli que formava o mar Mediterrâneo encontrava-se intacta, a superfície imaculada, tal como se mantivera ao longo de séculos. O próprio barquinho de prata regressara à posição original, junto à costa da Turquia.
Elena suspirou, aliviada, mais alto do que gostaria de ter feito e atraindo a atenção de Nehir, o que pelo menos impediu que ela reparasse nas minúsculas agulhas de bronze enfiadas no astrolábio.
— Então? — perguntou Nehir. — Para onde temos de ir? E porquê?
Elena sabia a resposta à primeira pergunta, dado que se lembrava onde o barco de prata tinha parado depois de sair da ilha de Vulcano. Só não podia dizer como obtivera essa informação.
Preciso de uma explicação convincente.
Fitou as pilhas de livros. Talvez fosse o pânico ou o desespero, mas deu-se subitamente conta do que lhe escapara a manhã inteira. A revelação atingiu-a com a força de um martelo. Provavelmente nunca teria percebido se não tivesse visto o barquinho acostar na ilha da Sardenha.
— Se não tiver nada a acrescentar — avisou Nehir —, vou ter de lhe dar alguma motivação adicional.
Elena esfregou as têmporas. Lembrava-se de segurar o astrolábio, sentindo o seu significado, porém distraíra-se com tudo o que acontecera a seguir.
— A Chave de Dédalo — disse finalmente.
— O que tem? — pressionou Nehir.
— Hunayn e os irmãos deram-lhe esse nome por uma razão. Calculo que tenham batizado o mapa como Atlas da Tempestade em virtude das tormentas sofridas pelo navio de Odisseu. Porém, porque é que os irmãos escolheram o nome de Dédalo, entre tantas outras figuras míticas, para o seu astrolábio?
— É uma pergunta interessante — admitiu Nehir. — Qual é a resposta?
Elena valeu-se do que aprendera durante a noite.
— Dédalo era um mestre artífice, à semelhança de Hefesto. Mas era um homem, não um deus. Apesar disso, inventou uma panóplia de mecanismos engenhosos. — Elena acentuou as últimas palavras, uma referência ao famoso livro dos irmãos Banu Musa. — Dédalo criou o labirinto onde foi aprisionado o monstruoso Minotauro e criou as asas de Ícaro. — Acenou na direção dos livros na secretária. — Segundo Sófocles e Aristófanes, desenvolveu igualmente «estátuas vivas». Tinham tanta desenvoltura que precisavam de estar amarradas para não fugirem. Por tudo isto, a reputação de Dédalo era tão grande que os gregos inventaram a palavra daedala para descrever estas estátuas que eram perfeitas em forma e pareciam desafiar o engenho dos homens.
Nehir cruzou os braços, tentando esconder o interesse, mas sem grande resultado.
Elena prosseguiu.
— Podemos perguntar se Hunayn, que viajou até aqui por causa da reputação de Hefesto, não procuraria também os conhecimentos de Dédalo?
— E onde é que essa busca o levaria?
— Segundo os mitos, Dédalo teve de abandonar Creta após revelar o percurso certo do labirinto, uma traição ao rei Minos. A fuga levou-o primeiro à Sicília e depois à Sardenha, onde se instalou. É para onde temos de ir.
Elena não queria fornecer aquela pista, mas, se contribuísse para manter o segredo acerca do mapa e impedisse Kadir de torturar Joe, era o que tinha de fazer. Além disso, com alguma sorte, a revelação nem serviria de muito. A Sardenha era apenas uma das muitas etapas da viagem de Hunayn.
O sobrolho franzido de Nehir sugeria que ela não ficara muito impressionada. Elena percebeu que precisava de lhe dar um pouco mais. Só assim poderia salvar Joe.
— E há outros dois pormenores que considero importantes — acrescentou. — Sabemos que Hunayn estava a seguir o que julgava serem os passos de Odisseu, na esperança de encontrar a misteriosa e avançada civilização dos feácios, o povo que acreditava ser responsável pela destruição das mais importantes civilizações do Mediterrâneo.
Nehir descruzou os braços e, nitidamente interessada em ouvir mais, fez-lhe sinal para continuar.
Ótimo.
— Um dos sítios onde Odisseu tentou acostar foi na ilha dos lestrigões, o lar dos gigantes devoradores de homens, que lançaram pedregulhos à frota grega afundando todos os navios exceto o que transportava o próprio Odisseu.
— E que tem isso que ver com a Sardenha? — perguntou Nehir.
— Por causa de Cláudio Ptolomeu, um geógrafo romano do século um. À semelhança de Estrabão, escreveu uma obra intitulada Geografia. De certeza que Hunayn também leu esse texto. — Elena apontou para os livros espalhados. — Eu li, pelo menos as partes que se relacionam com a Odisseia de Homero.
— E o que descobriu?
— Na sua obra, Ptolomeu menciona uma tribo do noroeste da Sardenha. Chama-lhes Lestrigoni, o que é bastante parecido com a Lestrigónia no poema de Homero. Hunayn nunca ficaria indiferente a esta informação. Além do mais, a costa oeste da Sardenha é o local onde foram descobertas estátuas gigantescas que hipoteticamente protegiam a ilha de navios invasores, lançando-lhes pedregulhos. Exatamente como os lestrigões.
Nehir anuiu com uma expressão pensativa.
Elena interrogou-se se o seu raciocínio seria o mesmo que levara Hunayn a viajar para a Sardenha na sua primeira busca do Tártaro. Ainda assim, sabia que tinha de continuar a falar, quanto mais não fosse para não dar hipótese a Nehir de questionar a legitimidade dos argumentos.
— O que nos traz de volta a Dédalo — disse, apontando para o mapa. — O outro nome do astrolábio. Um homem tão engenhoso como Hefesto, mas que era um homem e não um deus. Dédalo pode ter sido uma pessoa real, o que é aceite pelos estudiosos atuais. Seja como for, estamos a falar de alguém capaz de conceber criações espantosas, quase impossíveis em forma e função e certamente demasiado avançadas para o seu tempo. Posto isto, o que podemos retirar desta descrição? Quem nos faz lembrar?
Nehir franziu o sobrolho e abanou a cabeça.
— Quem é que Hunayn procurava? Qual era a misteriosa civilização que ele acreditava ser responsável pela queda dos três reinos mais poderosos do Mediterrâneo?
Nehir endireitou as costas. Fitou Elena, percebendo finalmente onde ela queria chegar.
— Os feácios... está convencida de que Dédalo era um deles.
— E estou convencida de que Hunayn pensava o mesmo e que isso o levou à Sardenha. — Elena cruzou os braços. — Tenho a certeza.
Elena tinha realmente a certeza, mas não pela explicação que fornecera a Nehir. Só esperava que fosse o suficiente para manter Joe em segurança.
Nehir anuiu.
— Bom trabalho, doutora Cargill. Assim seja, vamos traçar o rumo para a Sardenha.
Elena suspirou de alívio.
Nehir virou as costas, mas deixou um último comentário enigmático no ar.
— Felizmente, temos já alguns irmãos e irmãs na ilha. Estão lá para tratar de umas pontas soltas, digamos assim.
21
24 de junho, 20h27 CEST
Cagliari, Sardenha
Na varanda do hotel, Maria aproveitava os últimos raios de sol. O dia estivera abafado e ver-se fechada num quarto de hotel não ajudava em nada. O confinamento forçado também aumentava a sua ansiedade, dado que era mais fácil não pensar em Joe quando estava em movimento.
Ali parada, tinha tempo de sobra para matutar no assunto. Apertou os dedos em volta do corrimão da varanda.
Onde é que ele está? Será que está sequer vivo?
Gray ordenara que ninguém abandonasse os quartos enquanto estivesse ausente com Seichan e monsenhor Roe. Ele tinha ligado quarenta minutos antes a informar que vinham a caminho depois de terem ido visitar as ruínas de uma necrópole na costa oeste da ilha, necrópole essa que podia fornecer informações acerca do povo conquistador que em tempos levara a guerra ao Mediterrâneo.
Os Povos do Mar.
Ela imaginou essas tribos de navegadores aguerridos. Fechou os olhos e encheu o peito com a brisa marinha — e com ela um forte cheiro a gasóleo. Abriu os olhos e franziu o nariz na direção dos três gigantes ancorados no porto de cruzeiros de Cagliari, a pouco mais de trezentos metros. Os navios colossais destoavam do emaranhado de ruas estreitas e calcetadas da cidade, das lojinhas excêntricas e dos bares onde se degustava vinho a copo. Três andares abaixo, os turistas inundavam a avenida, acotovelando-se em grupos ainda mais compactos à entrada das duas docas principais da cidade. Com a proximidade do final do dia e terminada a invasão à cidade, os passageiros começavam a regressar finalmente aos navios.
Ao que parece, a Sardenha continua a ser atormentada pelos povos do mar.
Preparava-se para virar costas quando uma sucessão de detonações a obrigou a lançar-se de joelhos para o chão e a cobrir a cabeça com as mãos. Ficou ofegante, com o coração a martelar no peito.
Encontraram-nos!
Ato contínuo, ouviu alguém rir à gargalhada no meio da multidão.
No quarto, Mac apercebeu-se da situação e do susto que ela apanhara. Saiu para a varanda, estendeu-lhe o braço bom e ajudou-a a levantar-se.
— Alguém a brincar com bombinhas de Carnaval — disse. — Nada mais do que isso.
Maria já tinha chegado à mesma conclusão. Encostou-se novamente ao corrimão, fazendo o possível por esconder o rosto corado de vergonha e a sentir-se estúpida.
— Ouvi o pessoal do hotel dizer que vai haver fogo de artifício à noite — disse Mac. — Mesmo aqui por cima. Um espetáculo de despedida para os navios de cruzeiro, provavelmente.
— Não — disse o padre Bailey, juntando-se aos dois. — O fogo de artifício não é por isso.
O padre alongou as costas. Passara o dia inteiro debruçado sobre o mapa de Da Vinci. Dando-se por vencido, acabara de arrumar o artefacto numa mala rígida com rodinhas que comprara ainda em Itália. O tesouro estava a ser guardado pelo major Bossard, que ocupava o seu posto junto à porta do quarto armado com duas pistolas SIG P320, uma delas na mão e a outra num coldre axilar.
Maria acenou na direção do mar.
— Okay, qual é então o motivo do fogo de artifício desta noite?
— Hoje é o dia de São João — explicou o padre. — Em homenagem ao nascimento de João Batista. É uma das festas juninas celebradas por toda a Europa.
Maria lançou um olhar de soslaio ao padre.
— E aqui a data é comemorada com fogo de artifício? Isso não me parece muito religioso.
— Ah, mas a tradição na Sardenha tem raízes em celebrações pagãs. O dia vinte e quatro de junho era visto pelos povos pré-cristãos como o solstício de verão, uma altura especialmente mágica, em que o Sol e a Lua, representados pela água e pelo fogo, se uniam.
Maria desviou o olhar para o mar.
— Daí o fogo sobre a baía.
— E muitas fogueiras na praia — acrescentou Bailey. — Também faz parte da tradição formular um desejo e depois saltar por cima das chamas de uma fogueira, para que o desejo se realize.
— Eu contento-me com um bolo de aniversário e velas — disse Mac.
Na rua, a concentração de pessoas continuou a aumentar enquanto o Sol se punha. A multidão acumulava-se nos passeios e ocupava já partes da estrada. Havia grupos debaixo dos toldos dos cafés, incluindo diretamente abaixo deles, de onde ecoavam canções, risos e gritos alimentados pelo álcool em excesso. Ao longo da baía, as primeiras fogueiras foram acesas e as chamas brilharam na escuridão crescente. Nas varandas dos quartos vizinhos, os outros hóspedes do hotel começavam também a aparecer para ver a festa.
Mac observou a multidão lá em baixo.
— Se não se despacharem, o Gray e os outros vão perder o espetáculo.
Assim que o climatologista disse aquilo, uma forte explosão fez Maria saltar. Mas nada tinha que ver com o início das festividades. Ela virou-se e viu a porta do quarto abrir-se com violência, a maçaneta e a fechadura destruídas. Três objetos pretos, do tamanho de punhos fechados, foram lançados e rolaram pelo chão. O major Bossard estava já em movimento e saltou da cadeira onde se encontrava sentado, mas não foi a tempo de evitar o pior.
A primeira granada rebentou e atirou-o contra a parede mais próxima.
Mac lançou-se sobre Maria e empurrou-a para o lado, ao mesmo tempo que as restantes duas granadas ressaltavam para a varanda. As granadas rebentaram, mas em vez de uma explosão de estilhaços, soltaram espessas nuvens de um fumo negro e acre.
O padre Bailey curvou-se e avançou pelo fumo, nitidamente com a intenção de ir buscar o mapa. Maria apanhara um vislumbre da mala a voar pelo quarto quando a primeira explosão arremessou a mesa para longe da porta. O padre devia ter visto o mesmo. A mala aterrara junto às portas deslizantes da varanda.
Maria amaldiçoou a imprudência do padre, mas rastejou ao seu encontro, pronta para o ajudar.
— Não te levantes! — avisou Mac.
Uma rajada de tiros rompeu a cortina de fumo, estilhaçando os vidros das portas da varanda. Felizmente, o atirador disparara às cegas e suficientemente alto para as balas passarem por cima das cabeças de Maria e do padre. Bailey agarrou na mala e recuou.
Do seu ponto de vista junto ao chão, Maria apercebeu-se de um revolutear no fumo acumulado junto à porta. Um grupo de homens irrompeu no quarto. Alguém disparou à esquerda. Bossard... Ouviram-se gritos abafados e um corpo tombou no chão. Uma rajada de tiros foi disparada na direção do major.
Bailey passou por ela a arrastar a mala.
Maria recuou com o padre, e foi quando viu algo deslizar pelo chão. A pistola preta rodopiou até se imobilizar à sua frente. Era a segunda arma do major. O fumo levantou o suficiente para revelar o corpo caído e ensanguentado do militar. Tinha um braço estendido na direção da varanda, os olhos cravados nela, mas já sem vida.
Maria pegou na pistola e disparou às cegas para o quarto enquanto recuava com Bailey. Despejou o carregador inteiro e esquivou-se para um dos lados da varanda. Bailey ergueu a mala por cima do corrimão e deixou-a cair no espaço entre a varanda deles e a seguinte.
— Vamos! Vamos! — gritou Mac. O climatologista libertou o braço do suporte almofadado e ajudou Maria, praticamente atirando-a em peso por cima do corrimão. Estavam a seguir o plano de evacuação que haviam delineado antes.
Maria deixou-se cair no toldo do restaurante do hotel, seis metros abaixo. Por pouco não aterrava em cima da mala com o mapa. Aproveitou o ressalto da lona grossa e rolou para o lado. Bailey e Mac aterraram logo em seguida, os dois ao mesmo tempo.
Maria percebia a urgência que os obrigara a saltarem juntos.
Foram disparados tiros da varanda. As balas rasgaram o toldo, arrancando gritos das pessoas sentadas no restaurante. Maria e os companheiros fugiram da linha de fogo, colocando-se diretamente por baixo das varandas. Era o único sítio onde não podiam ser atingidos.
O padre Bailey tentou puxar a mala para junto dele, mas uma das rodas encontrava-se presa num buraco do toldo.
— Não temos tempo! — gritou Mac.
Ele tem razão.
Naquele momento, a prioridade era perderem-se rapidamente na multidão. O pânico começava a espalhar-se junto ao hotel, mas mais à frente a música e a festa abafara a maior parte dos tiros e das explosões.
Os três rolaram para a ponta do toldo e saltaram para o caos na área a céu aberto do restaurante. Havia cadeiras e mesas tombadas, clientes a fugir em todas as direções. Maria reparou numa mulher sentada no chão a chorar, o ombro ensanguentado.
Sentiu-se de certa forma culpada, mas virou as costas e correu com Mac e Bailey. Furaram por entre a massa de corpos em pânico que fugia para a rua, acompanhando a maré, em vez de lutar contra ela.
Bailey olhava constantemente por cima do ombro. Sabia o que perdera, mas não podia fazer nada. O mapa era a menor das preocupações.
Maria olhou em volta.
Para onde podemos ir?
21h24
Três quarteirões mais à frente, preso no engarrafamento causado pelas festividades, Gray reparou de imediato no fumo negro que escapava do terceiro andar do hotel. Vislumbrou também os corpos a saltarem para o toldo mais abaixo.
Inclinando-se para a frente do banco de trás do automóvel, ordenou ao rabino Fine e a monsenhor Roe:
— Fiquem aqui.
O grupo acabara de regressar de uma visita à necrópole do monte Parma, onde tinham sido encontradas as estátuas dos gigantes. Infelizmente, não tinham descoberto nada de novo, o que desiludira o monsenhor e o rabino.
Gray virou-se para Seichan.
— Vamos.
Ele saiu do carro por um lado, ela pelo outro. Os dois correram rua abaixo, evitando as pessoas que fugiam em sentido contrário.
— Como é que nos encontraram? — perguntou Seichan.
Gray abanou a cabeça, com o coração a mil. Aquela pergunta podia esperar. Acenou com a cabeça na direção de uma figura que surgiu de um beco entre o hotel e o edifício seguinte. O homem carregava uma metralhadora, embora fizesse o possível por a esconder junto à coxa.
Gray correu direito a ele pelas costas, agarrou-o pelo pescoço com um braço e arremessou-lhe a cabeça contra a esquina do prédio. Ouviu-se um estalar de ossos e o homem caiu inerte.
Seichan apanhou a arma, entregou-a a Gray e continuou a avançar, de punhal na mão. Apontou com a lâmina na direção de mais dois homens com pistolas em riste. Encontravam-se parados na ponta do pátio do restaurante, agora deserto, e olhavam para alguma coisa caída em cima do toldo, suficientemente pesada para repuxar a lona.
A mala que continha o mapa.
Gray e Seichan encurtaram a distância.
Um dos alvos apercebeu-se de qualquer coisa e virou-se. Gray ergueu a arma e disparou três vezes contra o peito do homem. Àquela distância, o impacto dos projéteis atirou o homem por cima de uma mesa. Seichan atacou quando o outro se virou, cortando-lhe a garganta com um golpe limpo.
Enquanto o segundo alvo caía no chão com um grito gorgolejante, foram disparados tiros do interior do hotel. Gray caiu sobre um joelho e ripostou através das portas abertas. Uma nova ronda de tiros, desta vez de cima, retalhou o toldo. As balas ricochetearam no chão de pedra. Gray não se mexeu. Sabia que o inimigo não conseguia vê-lo das varandas.
Mais ao lado, Seichan esquivou-se às balas e avançou na direção da depressão no toldo. Elevou-se com um pé em cima de uma cadeira, esticou o braço e cortou a lona com o punhal. A mala caiu pela abertura e aterrou na mesa atrás dela.
Gray despejou o resto do carregador. Desfez-se da metralhadora e correu para a mala. Agarrou-a no preciso instante em que um atacante irrompeu do interior do hotel, aproveitando a súbita paragem no fogo de cobertura. Mais valia ter ficado quieto. O punhal de Seichan voou dos dedos dela e acertou em cheio no olho direito do homem, atirando-lhe a cabeça para trás.
Gray pegou na mala e segurou-a contra o peito.
Seichan juntou-se a ele com os olhos a brilhar. Os dois correram por baixo do toldo e mergulharam na multidão em fuga. Acompanharam a torrente humana até ao automóvel.
Gray chegou primeiro.
Os bancos da frente estavam vazios. Seichan tocou no buraco de bala na janela do condutor. Gray fitou os salpicos de sangue nos assentos de couro e repreendeu-se por ter deixado os dois sacerdotes sozinhos. Rezou para que estivessem vivos, que tivessem sido capturados, em vez de estarem caídos num beco qualquer a esvaírem-se em sangue.
Trocou um olhar culpado com Seichan, mas não havia nada que pudessem fazer naquele momento. Os atacantes podiam continuar por perto, e os dois juntaram-se outra vez à multidão. Gray olhou por cima do ombro. Maria e os outros tinham fugido na direção oposta. Pensou em como podiam reagrupar-se e fugir para um sítio seguro.
Foi quando uma forte explosão ecoou sobre as águas da baía. Gray sentiu-a no peito e parou, bem como a maioria das pessoas em volta. Os rostos ergueram-se para o céu. Uma bola de estrelas vermelhas e douradas espalhou-se pelo manto negro. O espetáculo de fogo de artifício começara.
21h44
Mac aguardou com os companheiros num canto escuro da praça junto ao porto. Segurava o braço esquerdo junto ao peito. Cada explosão no céu era sentida no ombro ferido. Observou a multidão em festa que enchia a praça, procurando um sinal do inimigo.
A cerca de oitocentos metros, luzes de veículos de emergência concentravam-se junto ao hotel, mas poucas eram as pessoas na praça que se apercebiam ou prestavam atenção. Os olhares estavam cravados no céu. Havia música aos berros, o fogo de artifício explodia sobre a água e as exclamações de alegria abundavam.
Assim era a natureza humana.
Momentos antes, enquanto ele e os outros fugiam do hotel, o pânico em volta dissipara-se, diluído pela pressão da multidão e enfraquecido pela distância. O tiroteio só fora testemunhado por aqueles que se encontravam no local. Os que estavam longe mal se tinham apercebido, provavelmente atribuindo a confusão a uma festa que se descontrolara. As próprias pessoas que fugiam do hotel pararam de correr a dada a altura, limitando-se a olhar para trás, sentindo-se seguras o suficiente para passarem de potenciais vítimas a testemunhas espantadas.
Com o início do espetáculo de fogo de artifício, era como se nada tivesse acontecido.
E, daí, talvez não.
Mac conseguia sentir a tensão latente nas pessoas, à semelhança de uma manada de gado encurralado. Os uivos das sirenes cortavam o ar nos intervalos das explosões dos foguetes e atraía os olhares na direção das luzes. Algumas pessoas segredavam aos ouvidos de outras e apontavam na mesma direção. A notícia começava a espalhar-se pela multidão, cada versão partilhada provavelmente mais assustadora do que a anterior.
Mac abanou a cabeça. Sentia já saudades do sossego e do isolamento dos glaciares da Gronelândia.
Ao seu lado, Maria baixou o telemóvel descartável, encolhendo-se com o estrondo de outra explosão. Fez sinal a ele e ao padre Bailey para que se aproximassem.
— O Gray e a Seichan estão a minutos daqui. Temos de estar prontos.
Gray já tinha ligado antes, informando-os do que acontecera. Embora tivessem recuperado o mapa, era provável que monsenhor Roe e o rabino tivessem sido capturados ou mortos.
Com a mesma ameaça a pairar sobre todos, Maria sugerira um possível refúgio, um lugar onde o inimigo teria certamente dificuldades em encontrá-los. Além disso, era também uma forma de escaparem daquela maldita ilha.
Se conseguirmos lá chegar, claro.
— É bom que cheguem depressa — disse o padre Bailey, ainda a digerir as más notícias de Gray acerca do velho amigo. — O último cruzeiro está quase a partir.
Mac desviou o olhar para a entrada do porto. Uma cancela bloqueava o acesso. Os outros dois navios tinham partido logo no início do espetáculo de fogo de artifício, navegando para mar aberto ao som daquela despedida estrondosa. Pertencente ao grupo Regent Seven Seas, o navio que permanecia atracado era mais pequeno, embora isso fosse mais uma força de expressão do que outra coisa. Afinal, contava com mais de uma dezena de níveis acima do mar. Mesmo à distância, era possível ouvir-se uma banda a tocar no piso superior, anunciando aos passageiros a partida iminente.
Momentos antes, as pontes de embarque haviam sido recolhidas. Os únicos acessos disponíveis eram uma ponte para a tripulação e uma plataforma de carregamento que continuava a receber carrinhos cheios de caixotes de mantimentos.
Mac e os outros mantiveram-se atentos: à multidão, aos preparativos no cais, até ao fogo que iluminava o céu noturno.
De repente, o familiar som de rodas a serem arrastadas no empedrado desviou a atenção de Mac. Olhou por cima do ombro e viu Gray emergir da multidão. Seichan caminhava ao seu lado, atenta a tudo o que acontecia em volta. O par apressou-se ao encontro do grupo.
— Estão prontos? — perguntou Gray com um olhar que tinha tanto de zangado como de determinado.
Todos anuíram.
— Vamos a isso. — Gray lançou um olhar rápido ao grupo. — Quem tem as...
— Eu — disse Mac.
Gray anuiu e conduziu os companheiros em direção à entrada do porto. A segurança era mínima, apenas uma cancela para impedir a entrada de automóveis e um passeio estreito onde havia uma guarita. A meio da praça, Gray fez sinal a Mac.
Está na hora de pôr a manada em movimento.
Mac acendeu o rastilho do punhado de bombinhas que trazia na mão. Momentos antes, comprara três embalagens num quiosque situado num dos cantos da praça. Abrira as embalagens e juntara as bombas todas numa só, entrelaçando os rastilhos. Largou a sua criação no chão e continuou a andar.
Quatro passos mais à frente, ouviu as explosões nas costas, com todas as bombinhas a rebentarem em sucessão e a saltarem no empedrado.
Levou as mãos à boca e gritou:
— Ele tem uma arma! Fujam!
O padre Bailey repetiu o mesmo em italiano.
Gray em espanhol.
Maria limitou-se a gritar, rodando sobre si mesma e levando a mão ao ombro.
A reação da multidão foi imediata. As pessoas fugiram das explosões, semeando o pânico. Ouviram-se gritos, houve empurrões e atropelos. Muitos correram na direção do porto, contornaram a cancela de madeira e a guarita, acotovelando-se e debatendo-se no espaço limitado, para depois fugirem para o outro lado, determinados a alcançar a enorme extensão da doca e assim escapar ao hipotético atirador.
Alguém junto à cancela tentou demover a torrente humana com a ajuda de um megafone, berrando ordens em italiano, cheias de autoridade. Não só as ordens foram ignoradas, como serviram para aumentar o pânico.
Mac e os companheiros deixaram-se levar pela multidão, tentando manter-se juntos e abrindo caminho à força de cotovelos. Uma vez na doca, continuaram a acompanhar as pessoas que corriam ao longo do navio atracado. Ao alcançarem a zona de carga, abrandaram o passo. A primeira vaga da multidão em fuga abrira-lhes o caminho, derrubando os carrinhos e os caixotes de mantimentos e afastando os trabalhadores da doca.
No céu, o espetáculo de fogo de artifício atingia o clímax, com os foguetes a serem lançados uns atrás dos outros. As pranchas da doca estremeciam ao som das explosões. O céu inteiro ardia.
Com a noite transformada em dia, Gray esperou pela oportunidade certa. Por fim, fez sinal aos companheiros.
— Agora!
O grupo correu rapidamente pela curta ponte que ligava a uma escotilha aberta do navio. Dois trabalhadores das docas aperceberam-se e gritaram-lhes, mas estavam provavelmente demasiado atarantados pelo caos para fazerem mais do que isso.
Bailey virou-se para trás e gritou-lhes em italiano, mostrando-lhes o colarinho clerical. O que quer que lhes tenha dito — ou simplesmente porque os padres tinham uma grande autoridade em Itália —, os trabalhadores calaram-se, preferindo deixar o problema nas mãos dos colegas a bordo do navio.
Ainda assim, o grupo apressou-se antes que os homens mudassem de ideias. Mac e os outros seguiram a sinalética nas paredes, subiram as escadas e por fim encontraram uma porta.
Os impessoais espaços utilitários de metal branco deram lugar a um acolhedor corredor com painéis de madeira e chão alcatifado. À distância, a melodia de um piano convidava-os a explorar o espaço. Era como se tivessem deixado os enfadonhos campos de milho do Kansas e se encontrassem agora no reino multicolorido de Oz.
Ainda mal tinham dado meia dúzia de passos quando viram uma empregada dobrar a esquina ao fundo do corredor. Trazia nas mãos uma bandeja com cocktails fluorescentes, alguns com sombrinhas de papel. Ela abrandou o passo ao passar pelo grupo, cujo aspeto não seria de todo o melhor.
— Buonasera — disse, sorrindo. Depois, como que fazendo uma leitura dos rostos deles, acrescentou em inglês: — Gostaram do fogo de artifício?
Ninguém se pronunciou, as palavras substituídas por olhares nervosos.
O sorriso dela perdeu alguma naturalidade, mas não desapareceu.
— Não sei se sabem, mas a festa de partida está a começar no convés Cleópatra. Próxima paragem: Maiorca!
Posto isto, ainda feliz e contente, a empregada virou-se e seguiu o seu caminho.
Maria esperou que ela se afastasse o suficiente e virou-se para Gray.
— E agora? O que fazemos?
Mac encarregou-se de responder, dando assim a sua contribuição para o plano daquela noite.
— Juntamo-nos à festa. Bem preciso da porra de uma bebida. — Lançou um olhar a Bailey. — Desculpe a linguagem, padre.
Bailey ergueu a mão, absolvendo-o.
— Não sei a opinião dos outros, mas também já tomava a porra de uma bebida.
22
24 de junho, 22h12 CEST
Algures ao largo da costa da Sardenha
Isto é um bocado embaraçoso...
Na sua cabina abaixo do convés do iate, Kowalski debatia-se com o espaço exíguo da casa de banho, que consistia numa sanita metálica agregada ao autoclismo e de uma cabeça de chuveiro pendurada no teto. O chão tinha um ralo. Pelo que conseguia perceber, uma pessoa fechava a porta e o espaço inteiro funcionava como cabina de duche.
Se a pessoa for um rato anorético.
O resto do espaço era pouco maior. Havia duas camas de parede articuladas, como num compartimento de comboio, só que mais pequenas. Mas o verdadeiro problema era mesmo a casa de banho. Sempre que ele se mexia, batia com os cotovelos nas paredes. Claro que o movimento do barco dificultava tudo, nomeadamente a tarefa em mãos, que não podia ser mais simples: urinar. Olhou para baixo e fitou a mancha na perna esquerda das calças.
— Espetacular...
Fechou a braguilha e praguejou entredentes. Com as correntes a chocalhar, saiu da casa de banho, passou pela cama aos encontrões e bateu com os punhos na porta da cabina.
— Camaradas! Preciso de uma mãozinha!
O iate oscilou novamente, atirando-o para um dos lados. O barco encontrava-se ancorado ao largo da costa da Sardenha, onde o mar era mais picado. A viagem desde a ilha de Vulcano, atravessando o mar Tirreno, demorara oito horas. Depois de o Sol se pôr e enquanto o iate fazia a aproximação a terra, Kowalski conseguira ver um pouco da linha costeira. Avistara as luzes de uma grande cidade. Um espetáculo de fogo de artifício iluminava o céu, porém, à distância de um ou dois quilómetros, pouco ou nada impressionava.
Ainda assim, não tinha sido capaz de desviar o olhar. A terra encontrava-se tentadoramente perto, e a cidade era grande o suficiente para um homem se perder nela. Um homem e uma mulher.
Bateu outra vez na porta.
— Está aí alguém?
Uma voz abafada respondeu da cabina ao lado.
— Estás bem? — perguntou Elena.
Kowalski olhou para a perna molhada.
Logo se vê.
Continuou a bater na porta. Por fim, alguém praguejou no outro lado e a fechadura foi destrancada. Um guarda atarracado abriu a porta e apontou uma metralhadora compacta MAC-10 ao peito de Kowalski. Vinha acompanhado de outro guarda que se deixou ficar no corredor, também de metralhadora em riste.
— Que tu queres? — perguntou o primeiro guarda num inglês macarrónico.
Kowalski deu um passo atrás. De tronco nu e peúgas, dir-se-ia que não passava uma imagem muito ameaçadora, mas, pelo sim, pelo não, pôs as duas mãos no ar.
— Não quero problemas — disse. — Só preciso de ajuda para me limpar. — Sem baixar os braços, apontou para a perna molhada. — Não quero dormir assim.
O guarda lançou um olhar demorado à mancha nas calças, semicerrou os olhos e depois arregalou-os. Virou-se para o companheiro no corredor e disse qualquer coisa em árabe. Os dois começaram a rir à gargalhada.
— Sim, é muito engraçado, Piadolas. Preciso de despir as calças e não posso fazê-lo com as correntes postas. — Kowalski encolheu os ombros. — Em alternativa, podem ajudar-me a cortar as calças e depois pedem ao Kadir para me emprestar outras. Devem ser demasiado grandes para mim, mas cá me arranjo.
A simples menção do nome do gigante foi o suficiente para calar os risos.
Kowalski abanou a perna molhada.
— Só precisam de soltar um tornozelo — insistiu. — Eu faço o resto.
— Não — respondeu o Piadolas. Acenou com a cabeça na direção da casa de banho. — Lavar calças vestido.
— Não estão à espera que durma com as calças molhadas, pois não?
O Piadolas riu-se.
— Nesse caso, dorme assim. Com calças mijadas.
Kowalski deu um passo em frente, furioso.
— Ouve, camarada, eu...
O guarda ergueu a metralhadora, praguejando em árabe, e forçou Kowalski a recuar. O que se revelou um erro.
Okay, Piadolas, vamos a isso.
O iate abanou outra vez, nada de especial, mas Kowalski reagiu como se o barco tivesse sido atingido por uma onda gigantesca. Deixou-se cair contra as camas articuladas e depois levantou uma delas contra o queixo do guarda. O metal encontrou o osso, com um estalar satisfatório, e a cabeça do guarda foi atirada para trás.
Kowalski lançou as mãos à metralhadora, virou-a ao contrário e disparou contra o peito do homem à queima-roupa. Tal como esperava, duas balas atravessaram o primeiro guarda e atingiram também o segundo, atirando-o contra a parede do corredor. Mesmo assim, o segundo guarda ergueu a arma.
Nem penses nisso...
Kowalski ainda segurava o Piadolas pelo colarinho e usou o seu corpo como escudo. Avançou contra o segundo guarda a disparar através do primeiro até o entalar contra a parede. Só largou o gatilho quando o homem deixou cair os braços e a cabeça.
Largou os dois corpos e correu para a porta ao lado. Destrancou-a e abriu-a. No interior da cabina, Elena lançou-lhe um olhar atarantado. Finalmente, recompôs-se e correu para ele.
— Nem acredito que resultou... — balbuciou.
Kowalski voltou atrás, debruçou-se sobre os corpos e sacou a metralhadora do segundo guarda. Endireitou-se com uma arma em cada mão.
— Tentei que me libertassem pelo menos um tornozelo, mas não consegui. Se calhar, nenhum deles tinha a chave.
— Onde é que...
— Por aqui.
Kowalski conduziu-a na direção da popa do iate. Precisavam de descer mais um nível. Esperava que ninguém tivesse ouvido os disparos. Ele tinha feito o possível por abafar o barulho, mantendo o cano da arma pressionado contra o corpo do primeiro guarda.
Aquela tentativa de fuga era arriscada, mas tinham de tentar.
Tudo ou nada.
Mais cedo, enquanto o iate largava a âncora ao largo da Sardenha, tornara-se evidente que algo correra mal na operação em curso naquela ilha. Nehir irrompera pelo salão e ordenara que os dois fossem levados para as cabinas inferiores. Antes disso, também dera um novo prazo a Elena. Esperava mais informações úteis até à meia-noite.
Em virtude disso, Elena passara o dia debruçada sobre textos históricos, poemas antigos — estudara até livros de geologia. Mas o esforço de Elena e o prazo de Nehir foram postos de lado pela súbita alteração de circunstâncias.
Fechado na cabina, Kowalski ouvira Nehir, furiosa, a berrar com alguém. Os guardas tinham corrido para o salão, o que sugeria que a mulher convocara toda a gente para se apresentar lá em cima.
Qualquer que fosse o motivo da agitação, Kowalski sabia que aquela podia ser a única oportunidade para tentarem a fuga. Com a maioria da tripulação reunida em cima e a costa da ilha à vista, não havia razão para não arriscarem. Durante a longa viagem até ali, tinha traçado um plano com Elena, ideias trocadas em surdina, embora nenhum dos dois acreditasse que poderiam ser postas em prática. Alimentar o sonho de uma fuga era sobretudo uma forma de manterem o ânimo.
Mas quis o destino que fosse mais do que isso.
Enquanto eram conduzidos para as cabinas, Kowalski avisara Elena para se preparar. Embora tivesse uma ideia geral do que precisava de fazer, a verdade é que tivera de recorrer a uma boa dose de improvisação. A perna encharcada de urina, por exemplo, não fazia parte do plano nem fora o seu melhor momento, mas funcionara às mil maravilhas.
Os dois depressa alcançaram as escadas que levavam ao nível inferior. Ele desceu à frente com as duas metralhadoras em riste e fazendo o possível por não fazer barulho com as correntes. Susteve a respiração durante toda a descida. Espreitou o corredor seguinte e apontou para a direita com uma das armas.
— A garagem é ali — sussurrou. — Atrás daquelas portas. Mas temos de ser rápidos.
Elena fitou-o, os olhos enormes vidrados de medo, mas anuiu.
— Okay — disse Kowalski. — Vamos a isto.
22h22
Elena manteve-se junto a Joe enquanto ele avançava de costas curvadas pelo corredor. Cerrava os dentes a cada chocalhar mais forte das correntes, mas chegaram às portas duplas da garagem sem problemas.
Joe suspirou de alívio. Como ela, provavelmente não esperava chegar até ali com aquela facilidade. Agarrou nos puxadores verticais das portas e empurrou. Nada. Experimentou puxar. Fechou os olhos e encostou a testa à madeira envernizada.
Trancada.
— E se tentássemos subir até lá acima? — sussurrou Elena. — Podíamos mergulhar do convés e nadar para terra.
— Mesmo que ninguém nos visse... — Joe desviou o olhar para as correntes nas pernas. — São pelo menos dois quilómetros até à costa.
Elena compreendeu o busílis da questão. Ele nunca seria capaz de nadar aquela distância acorrentado.
— Mas tu podes conseguir — disse Joe, erguendo as duas metralhadoras. — Talvez possa abrir um buraco a tiro e tu saltas.
— E eles matam-te.
— Provavelmente, mas nenhum plano é perfeito.
Elena abanou a cabeça.
— Não. Ou vamos juntos ou nada feito.
Joe anuiu.
— Nesse caso, vou ter de chamar as feras — disse, afastando-a da porta. Apontou as metralhadoras à fechadura e abriu fogo.
Naquele espaço confinado, o troar das duas armas revelou-se ensurdecedor. Elena tapou os ouvidos, mas de pouco servia.
Joe parou finalmente de disparar e largou uma das metralhadoras, que ficara sem munições.
No sítio da fechadura, a porta exibia agora um buraco do tamanho de um punho fechado. Joe deu um passo em frente e deu-lhe um violento pontapé. A porta abriu-se. Por cima do zunido nos ouvidos, Elena ouviu os gritos dos guardas nos níveis superiores, juntamente com o martelar de botas.
Joe virou-se e estendeu-lhe a mão, e foi quando uma onda balançou o barco atirando-a contra a parede oposta, que não era uma parede. Uma porta abriu-se nas suas costas e ela caiu pela abertura. Alguém a segurou. Um braço forte envolveu-a pela cintura, ao mesmo tempo que uma manápula a agarrava pelo rabo de cavalo. Foi levantada em peso até ficar apoiada nas pontas dos pés.
Olhou por cima do ombro, percebendo que se tratava do gigante Kadir.
Reagindo depressa, Joe ergueu a metralhadora. Tinha o rosto contraído e vermelho de raiva, expressão que mudou rapidamente assim que percebeu que não tinha uma linha de tiro desimpedida.
Elena percebeu o mesmo.
O gigante arrastou-a para o interior da cabina ao som dos gritos e das botas dos outros guardas, cada vez mais fortes.
Ela lançou um último olhar a Joe.
— Foge! — gritou-lhe.
22h26
No meio do corredor, Kowalski dispunha de um segundo para escolher, mas não era uma questão de escolha, dado que não tinha nenhuma. Defender a sua posição apenas resultaria na sua morte e na morte de Elena, provavelmente. A melhor hipótese para os dois era virar costas e fugir.
Consciente disso, fitou o gigante.
Vais voltar a ver-me, maldito. Conta com isso.
Recuou para a garagem e, praguejando entredentes, fechou a porta e olhou em volta. Havia um machado de incêndio na parede. Pegou no machado e atravessou o cabo nos puxadores.
A tranca improvisada não aguentaria muito tempo.
Mas talvez aguente tempo suficiente.
Pôs a metralhadora ao ombro e desceu os três degraus para o piso principal da garagem. No dia anterior, durante o embarque, conseguira ter uma boa perspetiva do espaço. Seis motos de água, três de cada lado, aguardavam em carris com rodas inclinados na direção da porta retrátil na popa. Entre as motos, encontrava-se um submersível com capacidade para quatro tripulantes e equipado com lançadores de minitorpedos.
Enquanto passava pelo submersível a caminho da porta, Kowalski interrogou-se se poderia usar aquelas armas para afundar o maldito iate.
Quem me dera.
Em vez disso, fez o que era possível e premiu o botão que acionava a abertura da porta. Ouviu-se um ruído motorizado e a porta começou a subir. Um vento forte invadiu a garagem. Cheirava a mar e esperança.
Ao virar-se, as portas duplas da entrada foram atingidas com algo pesado.
Cerrou os dentes, mas o machado aguentou-se. Apressou-se na direção de uma prateleira com coletes salva-vidas com chaves penduradas. Agarrou num colete ao acaso, rezando para que todas as motos tivessem chaves iguais.
Preciso de um bocadinho de sorte para variar.
Foram disparados tiros no corredor. As balas estilhaçaram a madeira grossa da porta.
Kowalski baixou-se e fez o possível por alcançar a moto de água mais próxima. Por aquela altura, a porta retrátil da proa subira até metade, revelando um mar agitado e negro. A abertura não era ainda suficiente para permitir a passagem da moto.
Kowalski usou aqueles segundos para atirar um colete para cima da moto. Depois, debateu-se com unhas e dentes para subir para cima do veículo. Conseguiu por fim deitar-se de barriga sobre o assento, à semelhança de um alforge na garupa de um cavalo.
Ouviu-se um estalar de madeira por entre os tiros. O cabo do machado partiu-se ao meio, as duas metades voaram pelo ar e a porta abriu-se.
Merda.
Ergueu a metralhadora e abriu fogo sem peso nem medida, mas foi o suficiente para empurrar os guardas de volta ao corredor. A metralhadora calou-se e o gatilho imobilizou-se.
Praguejando, desfez-se da arma descarregada e lançou a mão à alavanca junto aos carris. Puxou-a com força. Acionados por um mecanismo de mola, os carris saltaram para a frente e estenderam-se para lá da proa do iate. A moto deslizou pelas rodas e voou por cima da água.
Kowalski susteve a respiração e preparou-se para o impacto, que por pouco não o derrubou quando a moto aterrou no mar. Segurando-se com força, lutou para atirar as pernas para trás e apertou o assento com os joelhos. Era o máximo que conseguia fazer com os tornozelos acorrentados. Introduziu a chave na ignição, premiu o botão vermelho de arranque e o motor rugiu.
Agora sim, estamos a conversar melhor.
Mantendo-se deitado, lançou as mãos aos punhos do guiador e carregou no acelerador. A moto empinou-se e saiu disparada, e em boa hora.
Uma saraivada de balas varreu as ondas atrás dele.
A proa do iate iluminou-se com a luz forte de um holofote. Kowalski endireitou-se e sentou-se sobre os tornozelos, os joelhos sempre apertados contra o assento. O colete salva-vidas fugiu-lhe com a força do vento, ameaçando arrancar a chave da ignição.
Nem pensar nisso.
Agarrou no colete e entalou-o debaixo do rabo.
O feixe do holofote encontrou-o, cegando-o. Inclinou-se sobre o guiador e guinou para um dos lados, fugindo de novo para a escuridão. Mais tiros. Algumas balas acertaram na traseira da moto.
Um motor despertou à distância.
Depois outro.
E mais outro.
O inimigo iniciara a perseguição.
Kowalski manteve-se colado ao guiador. Tencionava conservar a cabeça sobre os ombros. Acelerou em direção à costa, a pouco mais de setecentos metros. Havia fogueiras a arder numa praia. Mais perto, um número considerável de barcos ocupava uma área delimitada por boias, alguns deles iluminados.
Vou conseguir.
No segundo seguinte, porém, o motor tossiu, recuperou, tossiu de novo e morreu.
Olhou para o mostrador no centro do guiador, onde piscava a luz do combustível.
Ninguém podia ter tanto azar. Em seis motos disponíveis, escolhera a que tinha o depósito quase vazio.
Fim de linha.
22h32
Na popa do iate, Elena assistia à perseguição com os olhos marejados de lágrimas. Kadir continuava a segurá-la pelo rabo de cavalo. Nunca mais lhe largara o cabelo desde que a capturara, arrastando-a de convés para convés como uma boneca de trapos. A nuca ardia-lhe, mas as lágrimas que se acumulavam nos olhos não eram de dor.
Fitou a imensidão negra do mar.
Um holofote varria as águas, mas ao menos os guardas tinham parado de disparar. Joe devia ter fugido do alcance das armas, mas dificilmente estaria em segurança. Os rugidos das motos ecoavam na escuridão, os caçadores prontos para apanhar a presa.
Elena semicerrou os olhos, esforçando-se por romper o negrume e saber o que realmente estava a acontecer.
Rezou para que ele chegasse a terra.
Boa sorte, Joe.
22h33
Kowalski empoleirou-se na traseira da moto, de modo a usar o seu corpanzil e o peso das correntes para transferir o centro de massa do veículo. Fitou os barcos e as boias.
Estou tão perto.
Atrás dele, o rugido das motos dos perseguidores continuava a aumentar. Parecia que se aproximavam de todos os lados, como uma vasta rede invisível que se estendia na escuridão.
E estou a ficar sem tempo.
Lutou contra a ondulação, fazendo o possível por manter a traseira da moto afundada e a frente empinada. Estendeu os braços para o guiador e encostou o polegar ao botão da ignição. Rezou para que restasse uma quantidade mínima de combustível no depósito e que o ângulo de inclinação fosse suficiente para deslocar essa porção de combustível para o tubo de alimentação situado na parte de trás do depósito.
Não é pedir muito, pois não?
Cerrou os dentes e premiu o botão da ignição.
O motor engasgou-se — e depois pegou com um rugido.
Kowalski suspirou de alívio, carregou no acelerador e a moto disparou. Lutou para manter a frente levantada. Se a deixasse cair, a gasolina deslocar-se-ia novamente para a frente do depósito e o motor deixaria de funcionar. Infelizmente, isso implicava andar devagar e escolher o melhor trajeto por entre a ondulação.
Tentou ignorar os rugidos das motos dos perseguidores e cerrou os dentes, focado no objetivo. À sua frente, as luzes dos barcos ancorados aumentavam a cada instante. Porém, o mesmo se podia dizer em relação aos rugidos nas costas. Dava ideia de que os perseguidores convergiam na sua direção, de que a rede invisível se convertera agora numa seta apontada à sua pessoa.
Ou então era apenas a paranoia a falar.
Fosse como fosse, alcançou finalmente a fila de boias e avançou pelo meio dos barcos ancorados. Colou-se aos que podia, tentando manter-se fora de vista. Evitou as embarcações com as luzes acesas e prosseguiu a coberto das sombras das que tinham as luzes apagadas.
Só preciso de atravessar isto.
A praia encontrava-se a cinquenta metros, o areal iluminado pela linha de fogueiras.
Infelizmente, ainda não tinha ultrapassado metade dos barcos quando o motor tossiu de novo e morreu.
Praguejou.
Tão perto...
A força de aceleração empurrou a moto até um veleiro com as velas recolhidas.
Kowalski olhou para cima e estendeu os braços para o casco negro.
Pode ser que resulte.
22h34
No iate, Elena não arredava pé do convés. Não se podia dizer que tivesse escolha. Kadir permanecia ao seu lado, imponente, mas pelo menos largara-lhe o cabelo e segurava-a agora pelo braço. Nehir ordenara-lhe que assim fizesse, e os dedos do gigante ainda lhe apertavam o braço com força, esmagando-lhe a carne até ao osso.
Junto ao corrimão, Nehir segurava um rádio numa das mãos e espreitava pelos binóculos com a outra.
Ouviu-se uma voz baixa na coluna do rádio. Falava em árabe.
— Encontrámos a moto abandonada entre os barcos. O colete ainda estava pendurado na chave de ignição.
Sem baixar os binóculos, Nehir levou o rádio aos lábios.
— Procurem nos barcos mais próximos; em todos, se for preciso. E tenham atenção à água, não vá ele tentar nadar para terra.
Elena sabia que Joe nunca conseguiria nadar até à praia por causa das correntes.
A própria Nehir parecia ter noção disso.
— Não facilitem. Vasculhem cada recanto dos barcos, se for preciso. Não deixem nada ao acaso.
Elena perscrutou as luzes na água. Esperava que Joe fosse esperto o suficiente para encontrar um bom esconderijo. Os perseguidores não podiam ficar ali para sempre. A dada altura, seriam obrigados a desistir.
Enviou uma mensagem silenciosa a Joe.
Não faças nada estúpido.
22h35
Kowalski não depositava nenhuma fé no que estava a fazer e movia-se sobretudo por pura determinação. Sabia que Gray ter-se-ia lembrado de uma solução mais inteligente. O amigo encontraria uma forma de emboscar o inimigo, teria feito uma ligação direta numa lancha ou algo do género.
Em vez disso, ali estava ele a nadar, só com um braço, em direção à praia. Tinha o outro braço enfiado numa boia que roubara no veleiro. As pernas pendiam direitas ao fundo, as correntes nos tornozelos convertidas em âncoras.
Manteve-se atento a ruídos que denunciassem a posição dos perseguidores. Por enquanto, dava a impressão de que se encontravam no sítio onde ele abandonara a moto, o que sugeria que deviam estar a revistar os barcos mais próximos.
Isso mesmo, continuem à procura, palermas.
Continuou a nadar em silêncio, sem chapinhar, rente à linha de água. Cada braçada aproximava-o da praia. Foi quando ouviu uma moto despertar. A moto acelerou para longe, deu a volta e regressou.
Andava para trás e para a frente.
Um padrão de busca.
Merda.
Sem tempo a perder, Kowalski nadou mais depressa, tentou até usar as pernas. Contornou a penúltima linha de embarcações e debateu-se para passar pelo espaço entre o casco de uma enorme lancha Cobalt e a última fila de boias.
A coberto da sombra da lancha, viu a moto inimiga surgir a toda a velocidade.
Respirou fundo e largou a boia. As correntes nos tornozelos puxaram-no para o fundo. Desceu metro após metro. A moto passou por cima sem desacelerar. Pelo menos, ninguém o vira.
Os pés tocaram finalmente no fundo.
Olhou em volta para se orientar. O maciço casco da lancha Cobalt flutuava diretamente por cima, fracamente iluminado por um brilho avermelhado.
Kowalski virou-se para a origem daquele fogo.
Parece que vou a andar a partir daqui.
Arrastando um pé atrás do outro, começou a andar com o peito cheio de ar e os olhos a arder da água salgada. Cada passo era penoso. Tentou impulsionar-se com movimentos dos braços, mas de pouco ajudava.
Lentamente, o brilho difuso à superfície dividiu-se em focos individuais.
Mas demasiado lentamente.
O peito ardia-lhe do esforço, queria desesperadamente respirar, mas insistiu, determinado. Mais à frente, as ondas começaram a empurrar-lhe o tronco. Deu mais uns passos e tinha já o nariz fora de água. Expeliu o ar gasto dos pulmões e inspirou profundamente, aspirando à mistura um pouco de água quando uma onda lhe rebentou em cima. Engasgado, lutou para conquistar os últimos metros até colocar a cabeça fora de água.
Mais aliviado, olhou para trás.
Ainda se ouvia o rugido das motos.
Do mal o menos.
Para não arriscar, mergulhou e completou os últimos metros debaixo de água. Passou por um grupo de banhistas noturnos que nadava e chapinhava alegremente, e ouviu a batida ritmada de música a tocar alto e bom som, ainda que abafada pela água.
Emergiu finalmente e arrastou-se com as mãos e os joelhos na areia, a puxar as correntes atrás de si. Encaminhou-se na direção da fogueira mais próxima, ao mesmo tempo que um rapaz saltava por cima das chamas. O rapaz aterrou à sua frente.
Kowalski ergueu o rosto.
O rapaz balbuciou qualquer coisa em italiano.
Como queiras, meu.
Acenou debilmente com um braço e deixou-se cair de costas, exausto, consciente de que devia parecer um marinheiro morto que regressara das profundezas.
Manteve a mão no ar.
— Alguém tem a porcaria de um telemóvel? — perguntou.
23
24 de junho, 23h58 CEST
Mar Mediterrâneo
Elena agarrou-se ao corrimão da popa quando o enorme catamarã começou a acelerar. A embarcação elevou-se sobre os dois flutuadores e voou sobre as águas. Mais atrás, uma bola de fogo rompeu a escuridão e elevou-se na direção do céu noturno, iluminando brevemente os destroços fumegantes do iate.
A visão do navio a arder insuflou-lhe alguma esperança.
Se tinha alguma dúvida de que Joe havia escapado, a destruição do iate ajudou a dissipá-las. Uma hora antes, a busca fora interrompida. O iate recolhera a âncora e fizera-se outra vez ao mar, deixando a costa da Sardenha e navegando ao encontro daquele catamarã, que surgira como uma ave prateada e encostara ao seu lado. O transbordo de tripulação e equipamento fora rápido, incluindo todos os livros de pesquisa, o que sugeria que o trabalho de Elena não terminara.
As correntes que agora lhe prendiam os tornozelos confirmavam-no. Esperava receber um castigo maior, mas, pelos vistos, Nehir ainda precisava da sua ajuda.
Infelizmente, Elena também ganhara uma nova sombra.
Kadir mantinha-se sinistramente atrás dela.
Ignorando a presença do gigante, fitou a imensidão do mar. A escuridão era outra vez absoluta, mas a esperança persistia. Parecia-lhe evidente que o inimigo considerara necessária a destruição do iate, o que só se justificava se Joe tivesse escapado.
Ouviu passos atrás de si.
Virou-se e deparou-se com Nehir.
— Kadir, leva-a para baixo e não a deixes sair até alcançarmos o Estrela da Manhã.
Kadir anuiu com um grunhido e pegou num braço de Elena. Mal a puxou, Nehir agarrou-a pelo outro braço e deteve-os. O olhar da mulher queimava. Elena conseguia sentir o profundo desprezo que emanava dela, a ponto de queimar a fugaz réstia de esperança.
— Tens sorte — disse Nehir. — Mas não penses que a sorte dura para sempre.
Nehir largou-a e acenou a Kadir para que ele a levasse dali para fora.
O gigante arrastou-a pelo convés e pelo interior do catamarã até uma pequena cozinha. Sentou-a numa cadeira com um empurrão. Ela não ofereceu resistência, tão-pouco seria capaz de o fazer. Sentia-se esgotada, a esperança substituída pela tristeza e desespero. Pelas palavras de Nehir, deviam estar a navegar ao encontro de outro navio, o Estrela da Manhã.
A confirmar-se essa hipótese, como é que alguém a encontraria?
Apesar do terror e da ansiedade, com o passar das horas deu consigo com a cabeça pousada sobre os braços em cima da mesa. Adormeceu a dada altura, mas apenas para ser acordada pela buzina de outro navio.
Endireitou-se, tipo mola, momentaneamente desnorteada, mas logo se deparou com a presença sólida de Kadir, que a trouxe de volta ao perigo e à situação em que se encontrava. Parecia que o gigante não se movera um centímetro.
Nehir desceu à cozinha e berrou instruções ao irmão.
Elena pôs-se de pé, sabendo o que vinha a seguir. Mesmo assim, Kadir agarrou-a pelo braço e conduziu-a para o convés. Não havia uma onda no mar, reinava uma calmaria absoluta, como se o mundo inteiro sustivesse a respiração. A Via Láctea, em toda a sua gloriosa extensão, recortava o céu com o brilho do seu arco refletido na superfície negra do mar.
Um enorme navio parecia pairar de permeio, como se flutuasse no espaço.
Tratava-se de um navio branco, de aspeto fantasmagórico, cuja dimensão abafava o catamarã. Tinha o dobro do comprimento do iate, pelo menos cento e cinquenta metros, uma autêntica cidade flutuante que se erguia cinco andares acima do convés principal. No entanto, a sua forma era esguia, ameaçadora, lembrando um punhal pronto a ser usado.
Elena engoliu em seco, impressionada pela dimensão da coisa.
— O Estrela da Manhã — sussurrou Nehir com uma certa reverência.
O catamarã encurtou a distância. Foram estendidas pontes do convés para escotilhas situadas a meio do casco do imponente iate.
— Vamos — ordenou Nehir.
A mulher conduziu-a pela primeira ponte. Enquanto Elena a atravessava, ouviu um troar de rotores a rasgar o céu. Olhou para cima. As luzes de um helicóptero varreram o mar em direção ao navio.
Quem será?
Kadir empurrou-a.
Ela cambaleou para a frente, apoiando-se no corrimão. Seguiu atrás de Nehir e entrou no outro navio. Lá dentro, Nehir falou com alguém que as encaminhou para uma escadaria. Elena subiu os degraus intermináveis, sempre a lutar com o peso das correntes nos tornozelos. Só a muito custo chegou lá acima.
Um vento forte entrou por uma escotilha próxima, que conduzia ao convés da proa. O helicóptero aterrou no heliponto ali situado. Mal os patins tocaram no chão, Elena foi empurrada para o convés. Teve de erguer um braço contra a ventania lançada pelas pás do aparelho.
Dois homens correram para o helicóptero, com as costas curvadas, e começaram a prender os patins. Enquanto trabalhavam, a porta da cabina abriu-se.
Nehir avançou alguns passos com Elena e deteve-se. Virou-se e segredou-lhe ao ouvido:
— Arranjámos dois substitutos para o teu amigo. Para te manter motivada. Estou em crer que serão mais úteis que o outro.
Dois homens, bastante mais velhos, foram retirados do helicóptero, ambos com correntes nos tornozelos. Um deles parecia um monge com uma franja grisalha, o outro trazia uma compressa a tapar-lhe o ouvido. Mesmo ao longe, Elena percebeu que a compressa estava ensopada de sangue.
O par foi conduzido na sua direção.
Elena virou-se, de sobrolho franzido.
Quem...
Nehir deixou-se cair sobre um joelho. Atrás dela, Kadir seguiu-lhe o exemplo.
Um homem alto com uma expressão dura e um elegante fato castanho desceu do helicóptero. Tinha cabelo grisalho, pele morena e olhos pretos como carvão.
Nehir baixou a cabeça.
— Musa, bem-vindo.
O homem limitou-se a acenar ligeiramente com a cabeça. Pelo título e pela reverência com que foi tratado, Elena calculou que se tratava do líder do grupo.
Havia, porém, mais um passageiro no helicóptero. O último homem, vestido com um fato escuro, desceu do aparelho e curvou-se sob as pás. Ao endireitar-se, passou os dedos pelos cabelos alourados. Fez um sorriso amigável e avançou.
Parou diante de Elena e estudou-a da cabeça aos pés. Ergueu uma sobrancelha e virou-se para Musa.
— Embaixador Firat — disse —, estas correntes eram mesmo necessárias?
Completamente em choque, Elena lutou para retirar sentido da presença daquele homem, do mundo que de repente ficara de pernas para o ar diante dos seus olhos.
Só a muito custo foi capaz de proferir uma palavra.
— Pai?
QUARTA PARTE
OS PILARES DE HÉRCULES
Éramos, eles e eu, velhos e tardos ao chegarmos do angusto estreito à frente,
onde Hércules ergueu os seus resguardos para que o homem mais além não tente.
— AVISO DE ULISSES/ODISSEU A VIRGÍLIO NO INFERNO DE DANTE
24
25 de junho, 10h54 CEST
Palma de Maiorca, Espanha
Gray encontrava-se nu na varanda privada da suíte com vista para a proa do Seven Seas Explorer. O sol matinal incidia na superfície azul do mar Mediterrâneo, conferindo-lhe um espantoso tom de safira. A brisa quente e salgada secava-lhe a pele molhada depois de um mergulho na ampla banheira de hidromassagem. As bandeiras na ponta da proa ondulavam ao vento. À frente, a linha costeira de Maiorca aumentava à medida que o navio se aproximava do porto.
De uma ilha para outra...
Gray sentia-se como Odisseu, atirado de um lado para o outro pelos deuses, com pouco controlo sobre o seu destino. Claro que o herói de Homero nunca navegara em tão grande estilo. A varanda privada fazia parte da suíte Regent, situada na frente do convés do décimo quarto nível. No outro lado da varanda, um segundo quarto comunicava com uma área comum composta por uma sala de jantar e uma sala de estar à volta de um bar de ónix.
A suíte fora uma recompensa pela quebra do silêncio de rádio. Na noite anterior, depois de terem entrado no navio como clandestinos, Gray colocara a bateria no telefone satélite e ligara para o comando da Sigma. Não havia razões para não o fazer. Dois dias de clandestinidade não tinham ajudado. Continuavam a ser perseguidos e emboscados.
Apertou os dedos em torno do corrimão.
À frente, a cidade de Palma, capital das ilhas Baleares, estendia-se ao longo da baía. Apesar da distância, o marco mais proeminente saltava à vista. A fachada gótica e os pináculos da Catedral de Santa Maria erguiam-se acima dos restantes edifícios banhados pelo sol.
A imponente presença da catedral recordou-lhe o que perdera. O paradeiro e o destino de monsenhor Roe e do rabino Fine continuavam por apurar. O corpo do major Bossard, um homem que servira dois papas, jazia numa morgue.
Gray pusera Painter ao corrente dos acontecimentos, confiando ao diretor a tarefa de desencadear buscas em Cagliari pelos sacerdotes. Mas Painter fizera mais do que isso. Por volta da meia-noite, pouco depois do telefonema, um comissário do navio abordou o grupo junto de um dos bares. Trazia um conjunto de chaves num tabuleiro. Conduziu-os até ao convés catorze e abriu-lhes as portas duplas da luxuosa suíte. Pelos vistos, ninguém quisera pagar o preço exorbitante daquelas acomodações. Circunstância que não levantou queixas no grupo.
Exaustos, encontraram o seu cantinho na suíte e ali ficaram.
A suíte estava equipada com um sistema de videovigilância. Além das câmaras, dois seguranças do navio controlavam a entrada. Mesmo assim, Gray e Seichan revezaram-se em turnos de vigia durante a noite.
Durante os turnos, Gray foi recebendo atualizações de Painter.
Incluindo boas notícias.
Por incrível que pareça, Kowalski aparecera numa praia de Cagliari. Aquilo acontecera uma hora depois de o grupo ter partido. As provações a que Kowalski fora sujeito eram terríveis, mas ele também informara que a doutora Elena Cargill continuava viva e fora feita prisioneira num iate pelo mesmo grupo que a raptara na Gronelândia. Em todo o caso, quando as autoridades se puseram em campo, o iate tinha desaparecido do mapa.
Todavia, a busca prosseguia.
Um chapinhar desviou a atenção de Gray. Seichan saiu da banheira de hidromassagem. Gray susteve a respiração quando ela arqueou as costas e sacudiu os longos cabelos pretos. As gotas de água quente deslizaram ao longo das curvas sinuosas e do estômago liso. Com pouco ou nada para fazer enquanto o Explorer se dirigia para o porto, os dois tinham aproveitado os luxos da suíte, incluindo aquela requintada zona de spa, com apontamentos de decoração revestidos a ouro, espreguiçadeiras de pedra aquecida e sauna.
Mesmo assim, todo aquele luxo empalidecia diante da beleza de Seichan.
Gray foi ao encontro dela e puxou-a para si. Acariciou-lhe as costas molhadas. Ela cheirava aos sais de jasmim do banho e ao perfume inebriante que era só seu. Depois do nascimento de Jack, eram raras as vezes em que a intimidade dos dois não tinha de ser rápida e furtiva.
— Temos uma hora por nossa conta até o navio acostar — segredou Gray ao ouvido dela.
Seichan sorriu.
— Hum, então é melhor aproveitar para tirar leite.
Gray deslizou a mão ao longo das costas dela, agarrou-lhe na parte posterior de uma coxa e levantou-lhe a perna.
— Acho que isso pode esperar.
— Achas? — Com uma graciosidade que desafiava a gravidade, Seichan levantou a outra perna e pô-la à volta dele. — Tens a certeza?
Gray carregou-a em peso e encostou-lhe as costas à parede, dando-lhe a sentir a solidez dessa certeza.
Ela fez deslizar os dedos pelo cabelo dele e beijou-o.
A hora seguinte passou demasiado depressa. O anúncio no sistema de som do navio obrigou-os a abandonar o emaranhado de lençóis. Tomaram um banho rápido, vestiram-se e, com alguma relutância, prepararam-se para abandonar aquele refúgio temporário.
Antes de ele abrir a porta do quarto, Seichan bloqueou-lhe a passagem.
— Devíamos fazer isto outra vez.
Gray ergueu uma sobrancelha.
— Não sei se temos tempo, mas estou disposto a tentar.
Seichan pousou-lhe as duas mãos no peito, algo que só fazia quando queria dizer-lhe algo importante.
— Estou a falar disto. Nós os dois. Precisamos de mais tempo juntos.
Gray fitou-a.
— Também sinto falta disto, mas agora temos o Jack...
— Não posso ser apenas mãe — disparou ela.
Naquele instante, Gray percebeu pela primeira vez o que Seichan lhe tentara esconder durante semanas ou mesmo meses. A culpa, a tristeza, a confusão que a consumia. Encostou a testa à dela.
— Amo o Jack com todo o coração, mas tu és o meu coração. Se não pudermos ser quem somos com ele e um com o outro, então não servimos para o nosso filho.
Seichan suspirou e olhou para baixo. A culpa atenuara-se no seu olhar, mas Gray receou que não tivesse desaparecido. Percebia que ela continuava perdida naquele turbilhão emocional, e isso deixou-o preocupado.
A voz do diretor do cruzeiro fez-se ouvir de novo através do sistema de som, anunciando o início do desembarque.
Seichan deu-lhe uma palmadinha no peito, como que a pedir para deixarem a conversa para outra altura.
— Vamos — disse.
Abandonaram o quarto e foram saudados pela música de Tchaikovsky que provinha do piano Steinway na sala de estar da suíte. No quarto, Gray ouvira as notas abafadas de várias composições clássicas, convencido de que o instrumento estaria equipado com um mecanismo automático para tocar sozinho. Na verdade, encontrou o padre Bailey sentado ao piano, os seus dedos no teclado a tocarem os últimos acordes daquela peça.
Mac estava junto dele, outra vez com o braço ao peito. Segurava uma caneca de café e acenou com a cabeça na direção da mesa.
— O mordomo trouxe-nos o lanche.
Seichan encaminhou-se na direção da torre de bolinhos e minisanduíches.
Gray juntou-se a Mac e Bailey. O padre levantou-se e massajou os pulsos.
— Estou um bocadinho enferrujado — admitiu o sacerdote —, mas a música ajuda-me a pensar.
Gray sabia o que atormentava o padre: encontrava-se em cima da mesa de apoio com a tampa de bronze aberta. O mapa dourado e o astrolábio de prata resplandeciam sob a luz matinal. Gray também reparou em Maria, sozinha na varanda comum, a observar o porto de Palma de Maiorca. Sabia que ela não apreciava a paisagem, estava ali de vigia.
— Seja como for, não descobri nada de novo — disse Bailey, franzindo o sobrolho na direção do mapa. — E sem a ajuda de monsenhor Roe...
Gray concordava com ele. Pareciam estar num beco sem saída. Não havia sol matinal que aliviasse a sombra desse desconsolo. Fitou o mapa e sentiu-se novamente à deriva, sem uma bússola que lhe apontasse o caminho.
Alguém bateu à porta, desviando a atenção de todos na sala.
E não só.
12h10
Oh, graças a Deus...
Minutos antes, Maria julgara ter visto uma figura familiar a atravessar uma das pontes de embarque, mas não tinha a certeza. Como tal, encontrava-se já em movimento antes de ouvir a segunda pancada na porta. Correu da varanda e atravessou a sala até à entrada da suíte.
Foi direita à porta.
— Vê quem é antes de abrires — avisou Gray.
Não é preciso.
Ela sabia quem esperava encontrar. Cada passo em direção à porta aliviava a pressão no seu peito e o peso nos seus ombros. Incapaz de se controlar, agarrou na maçaneta e abriu a porta de rompante.
No corredor, o empregado de bordo deu um salto para trás.
Maria deu-lhe um encontrão e atirou-se nos braços do homem que o acompanhava.
Joe largou a enorme mochila que trazia e agarrou-a.
Maria abraçou-o com força.
— Desculpa, Joe.
— Calma... desculpo o quê?
Maria tentou responder, justificar-se pelo que acontecera em Castel Gandolfo, pela decisão de o ter enviado naquela missão com uma mão-cheia de nada. Sabia, porém, que não era essa a causa do seu arrependimento. Soube-o naquele instante nos braços dele. A vergonha e a culpa advinham das dúvidas que alimentara. Acerca dele, da relação de ambos, talvez até acerca de si própria.
O medo de o perder apagara as dúvidas. O amor que sentia por ele ardia dolorosamente no seu peito.
Não te quero perder, Joe. Nunca.
Incapaz de traduzir em palavras o que sentia, enterrou o rosto no peito dele, absorvendo o cheiro másculo, o calor do corpo, quente como o motor de um comboio. O braço em volta dela parecia feito de ferro.
Como pude duvidar disto?
Joe carregou-a em peso para dentro da suíte e só então a pousou no chão, um nadinha à bruta, diga-se de passagem. Maria continuou a segurar-lhe na mão. Com a outra, Joe esfregou a parte de baixo das costas com uma careta de dor.
— Eu carregava-te até ao fim do mundo, Maria. Tu sabes. Mas não depois de alguém ter tentado partir-me a espinha.
— Desculpa — disse ela outra vez.
Olhou para o nariz dele, para a fita adesiva, as bolas de algodão enfiadas nas narinas. Sabia o que o inimigo lhe havia feito, a horrível tortura a que fora submetido. Apesar da felicidade de o ter ali, em segurança, os ferimentos de Joe recordaram-na de que Elena continuava nas mãos das pessoas que tinham feito aquilo.
Partindo do princípio de que continua viva.
Esse pensamento centrou-a novamente na missão.
Joe acenou com a cabeça quando Gray foi buscar a enorme mochila. Gray precisou dos dois braços para a trazer.
— Cortesia do diretor — explicou Joe. — Tinha a mochila à minha espera na doca. Espero que esteja aí tudo o que pediste.
Gray agachou-se, abriu a mochila e estudou o conteúdo. Maria reparou na pilha de caixas pretas onde se lia SIG Sauer. Havia também uma espingarda grossa e curta, que não sabia identificar, juntamente com vários pacotes de munições.
Gray ignorou o armamento e pegou no tablet de dez polegadas.
— Por enquanto, vamos deixar a busca pela doutora Cargill nas mãos do diretor e da Kat. Eles também vão seguir a pista do Kowalski acerca da cidade subterrânea onde ele e Elena foram mantidos em cativeiro, algures perto da costa da Turquia.
Gray levantou-se com o tablet e virou-se para o grupo.
— Quanto a nós, continuamos sem conhecer a identidade do inimigo, mas sabemos o que procuram. O cruzeiro só parte amanhã, o que nos dá um dia para descobrirmos o que fazer a seguir. — Virou-se para Joe. — Quero que contes tudo o que aconteceu nesse iate, todos os pormenores, tudo o que a doutora Cargill disse, deu a entender ou sequer murmurou para si mesma.
Joe ignorou-o e aproximou-se da mesa de apoio. Colocou as mãos na cintura e franziu o sobrolho.
— Também tens um destes — disse, estudando o mapa e o astrolábio. — Onde é que o arranjaste?
O padre Bailey encarregou-se de explicar, contando-lhe acerca do Santo Scrinium, de Leonardo da Vinci e do resto.
Joe dispensou a lição de história.
— Isso é tudo muito interessante, mas conseguiram pôr o mapa a funcionar?
— Receio que a resposta seja não — admitiu o padre.
Joe suspirou, desapertou o cinto e baixou as calças até aos tornozelos. Felizmente para todos, vestira boxers. Começou a escarafunchar o penso que cobria parte da coxa. Maria sabia que ele tinha sido queimado com um ferro em brasa.
Joe levantou as ligaduras e retirou três agulhas de bronze.
— A Elena entregou-mas. Não queria que caíssem nas mãos deles. Tinha medo de lhas dar se a torturassem.
— Para que servem? — perguntou Maria.
— Ela chamou-lhe os «raios da Estrela da Morte» ou algo do género. — Joe apontou para o astrolábio. — Enfiam-se na esfera para o mapa funcionar como deve ser.
Gray pegou nas agulhas e examinou-as.
Bailey espreitou por cima do ombro dele, atónito.
— São as ferramentas para desbloquear a Chave de Dédalo.
12h28
A andar em volta da mesa, Kowalski fez o possível por explicar o que acontecera com o mapa original. Gray e o padre Bailey encontravam-se ajoelhados e debruçados sobre a réplica de Da Vinci, tentando emparelhar as agulhas com os símbolos correspondentes no astrolábio.
Os restantes observavam de perto.
Kowalski concluiu o relato.
— E depois fomos interrompidos antes de o raio do barquinho de prata terminar a viagem.
— Quer dizer que não viram onde foi parar? — perguntou Gray enquanto inseria a segunda agulha.
— Não tivemos hipótese. Talvez a Elena tenha visto algo que me escapou. Ela estava mais perto, disposta a arriscar expor-se à radiação da coisa. — Kowalski encolheu os ombros. — Eu tenciono ter filhos, sabes?
Virou-se e lançou um olhar na direção de Maria.
Certo?
Maria franziu o sobrolho e fez-lhe sinal para se concentrar no que Gray estava a fazer.
Bailey rodou o astrolábio na mão e apontou para um ponto específico.
— Encontrei. É o último símbolo, não é?
Gray semicerrou os olhos e acenou afirmativamente com a cabeça. Depois, com cuidado, inseriu a última agulha.
Bailey rodou sobre os joelhos e depositou o artefacto no encaixe do mapa. Mordeu o lábio inferior e lançou um olhar de soslaio a Gray.
Kowalski sabia que tudo dependia do que acontecesse a seguir.
— Pronto, só precisam de carregar na alavanca. E convém afastarem-se, já agora.
Bailey fitou o mapa.
— Infelizmente, esta versão dá um pouco mais de trabalho.
— Faça favor, padre — disse Gray.
— Okay. — Bailey estendeu o braço e pegou na manivela. Começou a girá-la devagar, enquanto explicava a diferença a Kowalski. — Esta versão não funciona com o misterioso combustível, temos de fazer isto manualmente.
Pelo sim, pelo não, Kowalski recuou na mesma.
Afinal de contas, tencionava ter filhos.
Acabou ao lado de Maria e pegou-lhe na mão. Observaram, expectantes, enquanto o padre girava a manivela. No mapa, o barquinho de prata deixou a costa dourada da Turquia e sulcou a gema azul do mar Egeu.
— Está a resultar — sussurrou Maria, apertando-lhe os dedos.
O barco passou por algumas ilhas, parando aqui e ali, e depois afastou-se da costa da Grécia e atravessou o mar Jónico. Passou por baixo da bota de Itália e contornou a ilha da Sicília.
Em volta, ninguém respirava. Todos os olhares se concentravam no mapa.
— Próxima paragem, Vulcano — murmurou Kowalski.
— Chiu! — disse Maria, como se ele estivesse a estragar a surpresa.
O barco contornou a Sicília e parou no arquipélago assinalado por rubis. Maria lançou-lhe um olhar de soslaio.
Ele encolheu os ombros. Eu disse-te.
Bailey continuou a girar a manivela, mas não aconteceu nada. Franziu o sobrolho.
— Acho que há alguma coisa errada.
Kowalski fez-lhe sinal para continuar.
— A próxima parte demora mais tempo.
Confiando no que ouvia, o padre continuou a dar à manivela. De repente, a caixa do mapa estremeceu em cima da mesa, como se tivesse saltado qualquer coisa no interior.
Kowalski puxou Maria para trás.
— Não te aproximes muito.
À semelhança do que acontecera com o mapa original, a placa de lápis-lazúli que representava o mar Mediterrâneo dividiu-se num emaranhado de fendas que se estendiam da ilha de Vulcano.
— Estes são os rumos falsos incluídos no mapa — explicou Kowalski.
Bailey abrandou o ritmo, dominado pelo espanto e também por alguma tristeza.
— Quem me dera que monsenhor Roe pudesse ver isto...
— Não pare — avisou Gray.
O padre voltou a acelerar. As fendas estreitaram-se e começaram a fechar-se, devolvendo a perfeição à superfície do mar. Apenas uma se manteve aberta, alargando-se e expandindo-se lentamente da ilha de Vulcano para o sul da Sardenha em direção ao norte de África. O barco zarpou outra vez, deslizando ao longo da fenda, talvez impulsionado por uma vareta magnetizada em contacto com uma secção de ferro na quilha de prata.
— Esta versão não é lá muito impressionante — observou Kowalski.
— Porquê? — perguntou Maria.
— Onde está o vapor? As chamas?
— Este não funciona a combustível — lembrou Maria.
Ele resmungou, descontente.
O barco prosseguiu pela fenda, navegando em direção a oeste ao longo da costa africana, até alcançar o estreito de Gibraltar.
— O percurso é o mesmo da outra versão — comentou Kowalski. — A partir daqui, já não sei o...
Um forte estalido metálico cortou-lhe a palavra. A caixa saltou do novo, desta vez com força suficiente para partir o mar Mediterrâneo. Pedaços voaram pelo ar. O resto da placa de lápis-lazúli colapsou para o interior da caixa, deixando umas quantas pontas afiadas penduradas e revelando as entranhas do mapa com todas as rodas dentadas de bronze e arames, a verdade por trás da magia.
Mac abanou a cabeça.
— Se calhar, foi preferível que o monsenhor não tivesse visto isto.
Bailey continuou a girar a manivela com uma expressão angustiada.
— Perdeu a tensão...
Gray limitou-se a afirmar o óbvio.
— O mecanismo partiu-se.
A comprová-lo, o barquinho de prata tombou do apoio magnético e desapareceu no meio das rodas dentadas.
— Lá se vai o Odisseu — murmurou Kowalski.
Bailey suspirou, derrotado.
— Deve ter-se estragado durante o transporte.
Seichan pousou uma mão nos ombros descaídos do padre.
— Ou nunca funcionou bem. Da Vinci construiu-o a partir de esquemas incompletos, lembra-se? Foi obrigado a improvisar certas secções.
Bailey limitou-se a suspirar outra vez.
Gray levantou-se.
— Pouco importa. Não há nada a fazer, exceto regressarmos para onde começámos.
Virou-se para Kowalski com um propósito óbvio. Qualquer esperança a partir daqui dependia do que Kowalski conseguisse recordar.
Tinha de sobrar para mim.
Kowalski fitou o mapa em ruínas.
Estúpido Da Vinci.
25
25 de junho, 12h35 CEST
Algures ao largo da costa da Tunísia
Em quem posso confiar?
Elena encontrava-se sentada a uma secretária numa opulenta biblioteca de dois andares, situada entre o terceiro e o quarto convés do navio Estrela da Manhã. O espaço era apainelado com madeiras exóticas, os corrimãos de ferro forjado eram esculpidos com elegantes motivos árabes. Estantes e expositores de vidro guardavam e exibiam uma vasta riqueza de livros e artefactos relacionados com a história náutica árabe. Uma escadaria em espiral conduzia ao segundo piso da biblioteca, onde escadotes sobre rodas permitiam o acesso aos livros na parte superior das estantes.
Elena esfregou os olhos cansados, ignorando os óculos de leitura em cima de uma pilha de livros. Não tinha dormido a noite inteira, em grande parte por causa do inesperado encontro com o pai.
O que está ele a fazer aqui? Como pode estar envolvido com estes assassinos?
Nada fazia sentido, e o pai não lhe dera nenhuma explicação. Limitara-se a abraçá-la e prometera que lhe contaria tudo na manhã seguinte. Depois virara costas e desaparecera na companhia do homem a que chamava Musa — ou embaixador Firat, ou lá o que era —, com um braço sobre o seu ombro, como se os dois fossem velhos amigos.
Nehir e Kadir conduziram-na então para um quarto não menos faustoso do que aquela biblioteca. Pelo caminho, Elena reparara na quantidade de homens e mulheres armados nos corredores do navio e passara por um nível inteiro que funcionava como depósito de armas. Havia ali poder de fogo suficiente para derrubar um país pequeno. Posto de outro modo, independentemente das aparências, o Estrela da Manhã era um imponente navio de guerra.
No quarto, Nehir removera-lhe as correntes dos tornozelos — uma instrução do pai, que o silêncio e a expressão contrariada da mulher indicavam ter sido obrigada a engolir contra vontade. No entanto, Kadir permanecera à porta do quarto a noite inteira. O mesmo acontecia naquele momento, aliás. Elena conseguia ver o gigante no lado de lá das portas duplas da biblioteca, as costas voltadas para o vidro e os braços cruzados.
Um murmúrio desviou a sua atenção para um dos lados. A única parte da biblioteca que não se encontrava cheia de estantes era uma pequena secção escorada na superstrutura, suspensa sobre a água. Janelas dispostas em curva ofereciam uma vista panorâmica do mar e da não muito distante costa tunisina do Norte de África.
Dois homens sentavam-se de cada lado de uma mesa, como se jogassem xadrez. A diferença era que o tabuleiro tinha sido substituído pelo mapa dourado. Antes, o par apresentara-se e os dois homens tinham partilhado as respetivas histórias com ela. O que se encontrava ferido, o rabino Howard Fine, recebera assistência médica durante a noite. O penso ensanguentado na orelha fora substituído, e os olhos permaneciam um nadinha vidrados por efeito dos analgésicos. O outro recém-chegado era monsenhor Sebastian Roe.
Foi o padre que lhe contou como os dois — e um grupo de colegas de Joe — tinham sido emboscados na Sardenha. Elena também compreendia agora por que razão os homens não haviam sido executados. Eram ambos arqueólogos e conhecedores da mitologia e da época histórica relevante para a tarefa em mãos. Eles estavam ali para a ajudar e, provavelmente, como reféns que podiam ser torturados caso ela falhasse.
Elena não se deixara cair no erro de pensar que o fundamental da sua situação se alterara com a chegada do pai. O quarto onde dormira era sem dúvida melhor do que a cela de pedra ou a minúscula cabina do iate, mas tudo o resto não mudara.
Em silêncio, observou o par a trocar impressões por cima do mapa. O monsenhor contara-lhe acerca da réplica construída por Leonardo da Vinci e da Chave de Dédalo original, ainda na posse do grupo de Joe.
Elena depositava grandes esperanças naquela informação.
Não me desiludas, Joe.
Antes, ela omitira alguns pormenores aos dois sacerdotes, nomeadamente o que testemunhara com Joe quando ativaram o mapa depois de resolvido o mistério do astrolábio. Os dois homens não lhe inspiravam receio e tão-pouco acreditava que estavam ali para a enganar, mas a chegada do pai perturbara-a demasiado para correr riscos.
Em quem posso confiar? Em mim.
Era a única resposta segura.
E a razão por que não revelara nada acerca do mapa.
Em todo o caso, as imposições mantinham-se. Nehir encarregara-se de lhe relembrar isso mesmo durante o pequeno-almoço na biblioteca, exigindo-lhe novamente informações sobre o destino de Hunayn depois de partir da Sardenha, a pátria de Dédalo.
Elena sabia a resposta. O mapa revelara-a. Visualizou o barco de prata a zarpar da costa da Sardenha em direção a sul, ao longo de um rio de fogo tectónico, e depois acostar num porto da Tunísia. Uma vez mais, precisara de uma justificação convincente, uma linha de raciocínio que apontasse Nehir nessa direção, mas que também lhe permitisse esconder o que sabia sob uma montanha de factos. Queria negar-lhe a informação, claro, mas não lhe restavam forças para lutar. Estava demasiado cansada e abalada pela chegada do pai. E, no fim de contas, que importância tinha se revelasse o porto seguinte?
Desviou o olhar para lá dos dois sacerdotes, para a distante costa do Norte de África. No dia anterior — antes da tentativa de fuga falhada —, voltara a estudar os livros, nomeadamente a obra de Estrabão, Geografia, para justificar a opção da Tunísia.
Durante o pequeno-almoço, explicara tudo a Nehir, partilhando as dezenas de rumores acerca de uma ilha ao largo da costa africana, que se dizia ser a casa dos Lotófagos de Homero, os infames comedores de flores e frutos da planta de lótus que deram a beber aos homens de Odisseu um poderoso néctar para os adormecer. Alguns historiadores e geógrafos antigos, como Heródoto e Políbio, defendiam que a ilha se situava junto à costa tunisina.
Elena reforçara esta hipótese parafraseando Estrabão, cuja sabedoria Hunayn tinha em elevada conta. Havia uma passagem na Geografia de Estrabão que indicava a verdadeira localização dos Lotófagos: ??t?fa??t?? s??t?? Lotophagîtis sýrtis, que se traduz por «Syrtis dos Lotófagos».
Elena tivera uma ajuda adicional de uma fonte inesperada. Monsenhor Roe interviera na conversa, confirmando que «Syrtis» era o antigo nome de Djerba, uma ilha na costa da Tunísia.
Satisfeita, Nehir aceitara as explicações e deixara-a em paz.
Pouco tempo depois, o Estrela da Manhã mudara de rumo e seguira para sul, numa viagem de três horas até à costa africana.
E agora o que se segue?
Ela mantinha uma esperança. Se Joe e os outros possuíam uma versão funcional do mapa e o astrolábio original, talvez fossem capazes de ganhar a corrida ao inimigo.
Elena agarrou-se a essa possibilidade.
Mas será suficiente?
13h40
Uma hora mais tarde, vozes desviaram a atenção de Elena para as portas de vidro da biblioteca. Nehir estava de volta e conversava com Kadir. A mulher não regressara sozinha.
Elena endireitou as costas ao ver o pai. Apesar da raiva, o simples facto de olhar para aquele rosto familiar aqueceu-lhe o coração. Era como se o corpo reagisse instintivamente à presença do homem que a criara, que lhe ensinara a diferença entre o bem e o mal, forjara o seu código moral e lhe incutira o amor pelo mar e pela história náutica.
A sensação de calor desvaneceu-se. Ela conhecia a expressão «coração pesado», mas só agora percebia que essa frase não era uma mera metáfora. O coração pesava-lhe realmente, como que feito de chumbo, cada batimento dormente e apático. Esfregou o peito, tentando desfazer o nó lá dentro, mas não lhe serviu de nada.
Nehir destrancou a porta da biblioteca com um cartão eletrónico, abriu-a, deu passagem ao pai de Elena e entrou a seguir, arrastando Kadir atrás.
O pai abriu os braços e atravessou a biblioteca.
— Elena, minha querida.
Ela levantou-se e aceitou o abraço, mas não abraçou o pai de volta.
O pai reparou na reação dela e largou-a.
— Desculpa ter demorado tanto. Há uma conferência europeia a decorrer na Alemanha. Já estava programada na minha agenda enquanto presidente do Comité de Relações Exteriores do Senado. Não calhou em má altura, dado que me ofereceu a desculpa perfeita para vir ao teu encontro. Claro que agora terei de continuar a participar remotamente, mas... — O pai abriu os braços e olhou em volta da biblioteca.
Elena cerrou os maxilares, mas aquilo eram boas notícias. Se o pai soubera que ela estava viva, significava que Joe escapara e conseguira contactar as autoridades.
— Felizmente — prosseguiu o pai —, o Estrela da Manhã possui um sofisticado sistema de comunicações capaz de camuflar qualquer tipo de sinal, não só escondendo a minha verdadeira localização, como dando a entender que continuo no meu quarto de hotel em Hamburgo.
Elena encontrou finalmente forças para interpelar o pai.
— O que vieste aqui a fazer, ao certo?
— Pois, foi por isso que aproveitei a pausa na conferência. — O pai acenou na direção da mesa junto à parede de vidro. — Anda, eu explico-te.
Elena queria mandar o pai à merda, mas também queria respostas. Mordeu a língua e seguiu-o ao encontro do mapa e dos sacerdotes. Os dois ocuparam os lugares que restavam à mesa.
Nehir também se juntou ao grupo, mas ficou de pé.
Enquanto se instalavam, o pai olhou em volta da mesa.
— O que sabem acerca dos Apocalypti? — perguntou.
Roe arregalou os olhos e fitou o pai de Elena, mas não disse nada.
— Nunca ouvi essa expressão — admitiu Elena —, mas calculo que esteja relacionado com o Apocalipse.
O pai sorriu. Aquele era o sorriso matreiro e jovial que lhe conquistara quatro mandatos no Senado.
— Sim, tem. Fiquei a saber da existência do grupo no meu segundo destacamento no Médio Oriente. Durante uma missão de combate, o meu pelotão de infantaria descobriu uma célula dos Apocalypti em Bagdade. Capturámos um elemento do grupo e uma quantidade considerável de textos. Enquanto guardava o prisioneiro, descobri quem eram e no que acreditavam. Depois de falar com ele e de estudar os textos fundamentais dos Apocalypti, fiquei convencido. Ou, se quiserem, percebi que tínhamos um objetivo comum.
Elena desviou o olhar para Nehir e Kadir.
— Estás a dizer que te converteste ao islão?
O pai riu-se.
— Disparate. Tenho tanta fé nas minhas crenças como eles nas deles. Sei que estão errados, e eles pensam o mesmo de mim. Porém, como disse, temos um objetivo comum.
— Qual? — perguntou Elena.
— Provocar o Apocalipse por todos os meios ao nosso alcance.
Elena sentiu o coração afundar-se mais um pouco. Imaginou as horríveis armas guardadas no porão do navio de Hunayn, o combustível radioativo que as alimentavam. O grupo devia estar a planear usar o terrível poder e o conhecimento escondido no Tártaro para desencadear uma guerra mundial e libertar o Inferno na Terra.
O pai prosseguiu.
— Iniciado o Apocalipse, as coisas que tomem o rumo que tiver de ser. O embaixador Firat acredita que se tornará o lendário Mádi, o décimo segundo imã que guiará o mundo até ao final. Do meu lado, eu sigo os ensinamentos dos estudiosos cristãos que encaram o caminho para o Apocalipse e o seu desfecho de forma muito diferente.
O pai encolheu os ombros.
— Em todo o caso, não estou apenas a falar do islão e do cristianismo. Os Apocalypti aceitam todos os que acreditam no fim do mundo de acordo com as respetivas religiões. O arrebatamento e a grande tribulação dos evangélicos. Os hindus que aguardam a vinda de Kalki, a derradeira encarnação de Vishnu. Os budistas e os sete sóis que destruirão o mundo. Até os judeus que partilham alguma forma de visão apocalíptica. — Acenou na direção do rabino. — Tenho a certeza de que conhece os livros proféticos de Zacarias e Daniel.
O rabino franziu o sobrolho.
— Conheço. Falam de uma era messiânica que conduzirá a diáspora judaica a Israel, seguindo-se uma grande guerra, durante a qual o messias judeu regressará e um novo mundo nascerá das cinzas.
O pai anuiu com uma evidente exultação no olhar. Elena sabia que ele era um católico devoto, cuja fé ganhara uma nova dimensão após a morte da mãe, vinte anos antes, vítima de cancro da mama. Era uma das razões por que muitos o consideravam o novo Kennedy, embora o seu código moral fosse bastante mais rígido do que o do antigo presidente.
Ou assim pensava.
Elena confrontou-o.
— Estás a dizer que os Apocalypti são uma coligação de fanáticos religiosos motivados pelo desejo de verem concretizado o fim do mundo.
— Sem querer ser picuinhas, o uso que dás à expressão «fanáticos» implica uma fé cega. Na verdade, estamos abertos a diferentes pontos de vista. Temos muitos membros na comunidade científica. Temos até membros que não têm nenhuma afiliação religiosa, ateus, se preferires, que defendem as próprias versões do fim do mundo, seja ele causado pelas alterações climáticas, uma pandemia global ou qualquer outro acontecimento futuro que o determine.
— Cabem aí muitas desgraças, não achas? — observou Elena.
— Sim, mas, como disse, partilhamos um objetivo comum.
Roe suspirou e recostou-se na cadeira.
— Forçar a mão de Deus. Tentar desencadear o Armagedão.
O pai sorriu.
— Deus ajuda quem se ajuda a si mesmo, certo, padre? Não sei qual dos nossos grupos verá a sua teoria comprovada quando abrirmos os portões do Inferno e o mundo for consumido pelo fogo. Será que o embaixador Firat se tornará o profético Mádi e ajudará a erguer um novo Paraíso das cinzas? Ou serei eu que vou cumprir o meu destino?
Antes que Elena pudesse perguntar o que o pai queria dizer com aquilo, ele acenou na direção dela e depois na direção de Nehir.
— Seja como for, não há dúvida de que a divina providência parece guiar-nos. Vejam como os acontecimentos juntaram a minha filha à Primeira Filha de Musa, e como as duas estão a ajudar-nos a encontrar e abrir esses mesmos portões?
Elena não estava pronta a atribuir aquela união forçada a um desígnio divino. Nem sequer estava convencida de que fora obra do acaso. Na noite anterior, incapaz de dormir, reavaliara a nova realidade em que se encontrava depois da chegada do pai. Tinha sido ele que encorajara o amor dela pela história, que lhe incutira até o amor pelo mar. Será que o pai podia tê-la preparado desde criança para servir as próprias ambições? Será que a conduzira para que ela procurasse o conhecimento que faltava para o ajudar a cumprir o tal destino de que falava?
Que era o quê, ao certo?
Engoliu em seco.
— Uma vez que não serás o profético Mádi, qual é o papel que te aguarda no final dos tempos?
A exultação regressou ao olhar dele com uma intensidade redobrada. Percebia-se que aguardara décadas para lhe dizer.
— Jeremias, capítulo vinte e três, versículo cinco.
Roe abanou a cabeça. O monsenhor identificara a referência. O próprio rabino exibiu uma expressão agoniada.
— Não sei o que isso quer dizer — retorquiu Elena.
O pai respondeu citando o Livro de Jeremias.
— Há de vir o dia em que escolherei um rei justo, da linhagem de David. Esse rei governará com sabedoria, cumprindo o direito e aplicando a justiça.
Elena percebeu finalmente. Pelos vistos, o pai tinha planos maiores do que uma possível corrida à presidência dos Estados Unidos. Fitou-o e observou a loucura por trás da exultação, a ambição que conduzira àquele derramamento de sangue.
— Tu queres ser o novo rei David.
14h01
Pobre blasfemo...
Nehir franziu a testa, desprezando em silêncio o grupo, uns infiéis que negavam a bênção de Deus. Fitou Elena Cargill. O pai da americana acabara de declarar que fora Deus que juntara o destino das duas. Recusava-se a aceitar tal coisa, claro, que estivesse ligada àquela mulher fraca. Não pelo destino e menos ainda pela mão de Alá.
Antes de partir para a Gronelândia, tinha sido informada de que o alvo era a filha de um senador americano, mas Musa nunca lhe dissera que o pai da mulher era um membro da elite dos Apocalypti. Como Primeira Filha, devia ter tido conhecimento disso. Na noite anterior, depois da tentativa de fuga, quase matara a mulher. Se o tivesse feito, seria perseguida e punida, provavelmente até torturada e morta.
Musa só lhe contara a verdade no último instante, mais por necessidade do que por vontade própria. Depois, ordenara-lhe que levasse a mulher para o Estrela da Manhã, a sua fortaleza pessoal. Por norma, pisar aqueles conveses representava uma grande honra, mas, desde que subira a bordo, não conseguia sentir outra coisa além de raiva, um fogo no peito que lhe era demasiado familiar.
Havia sido traída por homens a vida inteira, homens que usavam o seu poder para a manter subjugada.
Sempre acreditara que Musa era diferente e confiara nele de corpo e alma.
Cerrou os punhos e respirou fundo, tentando apagar as chamas dentro de si. Forçou-se a aceitar que aquilo havia sido uma pequena traição de Musa, uma traição que devia perdoar, que tinha de perdoar.
Quando ouviu o senador declarar-se herdeiro do trono de David, a irritação que sentiu atenuou algum do rancor em relação a Musa. Sabia que Musa seria o profético Mádi, aquele que conduziria os Filhos e Filhas a uma glória maior.
E como Primeira Filha irei sentar-me à direita de Mádi.
Só esse caminho — que seguia fielmente — lhe devolveria os filhos que a morte levara. Mesmo assim, custava-lhe estar ali, na companhia daqueles kuffar. Que ela soubesse, nesse aspeto, o sagrado Alcorão não oferecia dúvidas de interpretação. Os infiéis eram o inimigo. Não era o que dizia a Sura 8:58?
Há muitos anos, perguntara isso mesmo a Musa. Ele tentara atenuar as dúvidas dela acerca dos Apocalypti, explicando-lhe a necessidade prática daquela improvável aliança com os infiéis. A utilização dos recursos do inimigo era em si mesmo uma forma de honrar o Alcorão, dissera ele, se mais tarde isso servisse para os destruir. Com o passar do tempo, ela acabara por concordar que os Apocalypti eram mais poderosos juntos. No dia do Armagedão, todos os infiéis seriam consumidos no fogo purificador. Só os verdadeiros crentes emergiriam das chamas, como uma espada endurecida na forja, para liderar os justos no maravilhoso mundo novo.
Até lá...
Somos mais fortes juntos.
Como que ouvindo os seus pensamentos — ou movido pela força de Alá —, o senador Cargill explicou isso mesmo aos outros. As palavras dele reforçaram o que Musa lhe ensinara, ajudando-a a acalmar o fogo dentro de si. Ou talvez fossem apenas as expressões desanimadas dos outros que reforçaram a sua certeza de que aquele era o caminho.
— Estamos em toda a parte — explicou o senador. — Temos seguidores fiéis em todas as religiões. Nos governos. Nas forças militares. Nas universidades. E milhares de outros que nem sequer sabem que são como nós, mas que inadvertidamente apoiam a nossa causa. Na verdade, qualquer pessoa que acredita que o fim do mundo está próximo e nada faz para o evitar é um de nós.
Com enorme satisfação, Nehir observou a angústia no olhar de Elena. O pai dela prosseguiu.
— O verdadeiro alcance global do nosso grupo só é conhecido pelos que ocupam a cúpula dos Apocalypti. É por isso que vocês não conseguem dar um passo sem que nós saibamos. — O senador estendeu o braço e pegou na mão da filha. Ela tentou retirar a mão, mas ele segurou-a com força. — Por exemplo, sabemos que o vosso amigo Joseph Kowalski se juntou outra vez aos companheiros.
Elena sobressaltou-se.
— Assim sendo e para vos livrar da esperança de que alguém vos vem salvar, sou obrigado a ensinar-vos uma dura lição. Do Livro de Ezequiel. Capítulo trinta e três, versículo onze.
Nehir sorriu, as chamas desvaneceram-se de vez e foram substituídas por uma satisfação gelada.
O padre católico citou a passagem em questão.
— Juro pela minha vida, palavra do Soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios.
26
25 de junho, 14h22
Palma de Maiorca, Espanha
Em frente do mapa, Kowalski revirou os olhos e continuou a andar de um lado para o outro.
— Não sei quantas vezes tenho de repetir. Isto é tudo o que sei. — Parou e massajou o fundo das costas. — Além disso, esta dor está a dar cabo de mim e não me importava nada de ir experimentar a vossa banheira de hidromassagem.
— Vais ter de esperar — disse Gray, que tentava com a ajuda do padre Bailey reunir os pedaços do objeto partido.
Kowalski sabia que era uma causa perdida.
Os dois encontravam-se ajoelhados no chão, debruçados sobre o mapa de Da Vinci, fazendo o melhor que podiam para retirar as últimas lascas de lápis-lazúli do interior do mecanismo. Maria, Seichan e Mac estavam sentados ao lado, a juntar os pedaços azuis do mar Mediterrâneo como se fossem peças de um puzzle. O grupo passara os noventa minutos anteriores a estudar o mapa avariado, à procura de qualquer pista que revelasse o rumo certo do dispositivo.
Bailey suspirou.
— Metade das peças saltou do sítio. Com tempo, e sobretudo com a ajuda dos esquemas originais, talvez consigamos fazer qualquer coisa.
— Duvido — disse Gray. — Mesmo que tivéssemos esse tempo, tudo indica que o mapa foi construído para proteger o rumo certo. Ora, de acordo com o que o Kowalski nos disse acerca do diário, o comandante Hunayn era o único que possuía as ferramentas necessárias para pôr isto a funcionar corretamente.
Gray virou-se novamente para Kowalski e fitou-o.
— Conta-nos outra vez tudo de que te lembras. Começa do princípio.
Kowalski bufou.
Outra vez?
Sabia, porém, que os outros contavam com ele, até Maria, que lhe lançou um olhar esperançoso, encorajando-o. Por isso, decidiu começar pelo primeiro encontro com Elena. A recordação do episódio foi o suficiente para a queimadura na perna começar a doer.
— Eles estavam a usar-me para obrigar a Elena a cooperar — começou por dizer, e depois prosseguiu, passo a passo, interrompido aqui e ali por Gray que ia consultando o tablet para pesquisar referências mencionadas por Elena. Escusado será dizer que eram mais que muitas.
Gray esforçou-se por retirar o máximo de informações de cada pormenor, cada pedacinho de conversa, mas não acreditava que aquela abordagem os levasse a bom porto. Parecia-lhe evidente que Elena não descobrira para onde tinham de ir. Assim sendo, como é que lhes podia oferecer alguma pista?
— Ela estava obcecada com o livro do tal Estrabão, Geografia — prosseguiu Kowalski. — Um calhamaço com mais de duas mil páginas. Leu a coisa em silêncio. Se descobriu alguma coisa, não me disse. — Ergueu as mãos no ar. — E é tudo o que sei. Ponto final.
Gray ficou uns bons dez minutos em silêncio, à volta do tablet.
— Está a escapar-me qualquer coisa.
Uns parafusos, talvez, se achas que vais decifrar isto.
Gray virou-se.
Kowalski nem o deixou abrir a boca.
— Se me pedes outra vez para...
— Não, podes estar descansado. Mas acho que a doutora Cargill estava perto da solução. — Gray apontou para o tablet. — Juntei os livros que mencionaste. Se compararmos os textos que ela estudou primeiro com aqueles que leu depois, nota-se uma mudança óbvia na estratégia.
— Como assim? — perguntou Bailey.
Gray manteve o olhar cravado em Kowalski.
— Disseste que ela começou a pesquisar livros de geologia.
Kowalski encolheu os ombros.
— E daí?
— Quando chegaram a Vulcano, disseste que ela se fartou de falar acerca da história da ilha.
— Sim, sobretudo acerca do deus Hefesto.
— Certo, mas depois ela comentou que a atividade vulcânica da ilha não tinha nada que ver com Hefesto, mas com a deslocação das placas tectónicas.
Maria acenou com a cabeça.
— A ciência por trás do mito.
— Apesar disso, ela ainda não tinha revelado nenhum interesse em livros de geologia — observou Gray. — Isso só aconteceu mais tarde, depois de ativarem o mapa, o que revelou a tal fenda ao longo do Mediterrâneo. Repete-me o que ela disse nesse momento. As palavras exatas, de preferência.
Kowalski fechou os olhos. Visualizou a fenda no mapa, as chamas douradas. Elena aproximara-se para ver melhor, nitidamente fascinada.
— Só me lembro de ela murmurar que aquilo parecia uma representação das placas tectónicas a colidirem.
Gray anuiu.
— E foi a partir desse momento que ela começou a procurar respostas em livros de geologia?
— Acho que sim.
Gray concentrou-se novamente no tablet. Kowalski aproximou-se e espreitou por cima do ombro dele, a fim de perceber o que raio estava Gray a fazer.
Que diferença faz se a Elena estava interessada em livros de geologia?
No ecrã do tablet, Gray abriu uma janela com um mapa topográfico do Mediterrâneo, em tudo semelhante à versão dourada em cima da mesinha de apoio.
Kowalski semicerrou os olhos.
Ato contínuo, uma violenta explosão estremeceu o navio inteiro. A popa ergueu-se e foram todos atirados na direção da proa.
O piano deslizou pela suíte e bateu contra as janelas, partindo vários painéis. Garrafas voaram do bar, partindo-se e rebolando pelo chão atrás do piano.
O grupo continuou aos trambolhões na direção da varanda, cujas portas estavam abertas. Maria saiu disparada e deslizou pelo chão da varanda. Kowalski atirou-se de cabeça, aterrou de barriga e lançou-lhe uma mão ao tornozelo, segurando-se com a outra à ombreira da porta.
Maria fitou-o, aterrorizada.
Apanhei-te.
Kowalski olhou por cima do ombro, recuando e puxando Maria com ele. Viu o mapa deslizar em cima da mesa e cair no chão.
— Segurem-se! — gritou Gray.
O que achas que estou a fazer?
Antes que pudesse recuperar o fôlego, a popa voltou a cair na água, para depois bater com força contra a doca. Todos foram atirados em sentido contrário. O piano voltou a deslizar da janela e foi embater no bar de ónix. A estrutura de madeira do instrumento partiu-se e as cordas de arame romperam-se.
Enquanto o navio se preparava para oscilar de novo, Gray recuperou o equilíbrio e correu outra vez na direção da varanda, com o telefone satélite encostado aos lábios.
— Ponto de situação? — gritou.
Kowalski franziu o sobrolho, sem perceber patavina do que estava a acontecer. Ajudou Maria a levantar-se e correu com ela atrás de Gray. Ao alcançar a varanda, foi saudado pelo troar ensurdecedor de motores. Um gigantesco avião sobrevoou o navio, descreveu uma curva sobre a baía e largou uma linha de objetos que caíram no mar. Seguiu-se uma sucessão de explosões abafadas, que projetaram enormes repuxos na superfície da água.
Cargas de profundidade...
Kowalski olhou para o céu. O avião completou a curva e mergulhou outra vez, pronto para uma nova passagem. Só então reconheceu o aparelho, um Poseidon. Visualizou o mesmo avião estacionado na pista de uma base área italiana e calculou de imediato quem o comandava.
Na baía, a segunda ronda de cargas de profundidade explodiu com a mesma violência da primeira. Entre a agitação das ondas e dos repuxos, uma baleia de ferro ergueu a cauda fora de água, rolou para um dos lados e afundou-se por fim, ainda de barriga para cima.
Kowalski percebeu que só podia ser o submarino que transportara Elena da Gronelândia. Ou outro parecido.
Olhou para cima.
Pelos vistos, o comandante Pullman apanhou finalmente o seu peixe.
15h03
— Repita a última mensagem! — gritou Gray ao telefone, tentando ouvir a voz do interlocutor por cima do barulho do avião.
— Desculpem a intervenção à última hora — respondeu o comandante Pullman. — O alvo estava equipado com motores PIA.
Gray compreendeu. Os submarinos equipados com Propulsão Independente de Ar conseguiam ser mais furtivos do que os nucleares. Conseguiam até ludibriar as defesas antissubmarino em exercícios militares.
— Andou sempre um passo à frente, e era provavelmente russo, Classe Lada. Só conseguimos bloquear o alvo quando disparou o primeiro torpedo.
Gray sentiu o navio mover-se debaixo dele enquanto estabilizava meio inclinado na água. Felizmente, tinha sido atingido uma única vez. O Explorer continuou a adernar, à medida que metia mais água. Antes do ataque, o navio fora discretamente evacuado. Como a maioria dos passageiros se encontrava já em terra para as habituais excursões, e usando uma falsa fuga de gás como desculpa, tinha sido fácil desembarcar quem ainda permanecia a bordo, incluindo a maioria da tripulação.
Na noite anterior, antes da madrugada e da chegada do navio, o avião do comandante Pullman largara um anel de boias de sonar em volta do porto. Gray tinha a certeza de que o inimigo tentaria um novo ataque, sobretudo depois de o grupo ter rompido o silêncio de rádio. Além do apoio aéreo e marítimo, uma equipa militar espanhola tinha sido posicionada na doca, em caso de um assalto terrestre.
No entanto, Gray sabia que o ataque viria do mar.
Ergueu o telefone.
— Não lancem mais cargas.
— Afirmativo. Calculo que queira sobreviventes para interrogar. As equipas de busca e resgate estão a caminho.
Gray esperava que houvesse sobreviventes, mas o principal objetivo fora cumprido: entregar uma mensagem ao inimigo.
Não nos apanham outra vez desprevenidos.
Ao regressar ao interior da suíte, Gray sentiu o navio inclinar-se mais um pouco.
— Temos de sair daqui — avisou Kowalski.
Gray não acreditava que o navio pudesse afundar, mas Kowalski tinha razão. Encaminhou-se na direção do mapa, ajoelhou-se e levantou o artefacto sobre um dos lados. Agarrou numa secção do mapa e, com algum esforço, arrancou-a. Endireitou-se com o pedaço na mão.
— Vamos — ordenou aos outros.
O padre Bailey fitou o que restava do tesouro de Da Vinci.
— Não devíamos levar o resto?
— Vou pedir às autoridades espanholas para o virem buscar. Depois enviam-no para Itália. Seja como for, já não precisamos dele.
— Porquê? — perguntou Kowalski.
Gray encaminhou-se para a saída. Esperava que o inimigo tivesse recebido a mensagem muito claramente e que passasse a ter mais cuidado a partir daquele momento. Virou-se para Kowalski e respondeu à pergunta.
— Porque sei para onde temos de ir.
27
25 de junho, 15h08 CEST
Ao largo da costa da Tunísia
Quem ensinou uma lição a quem?
Elena queria rir-se à gargalhada, mas controlou-se. Tinha sido levada da biblioteca para o centro de comunicações do iate, juntamente com os dois sacerdotes. Uma fila de monitores exibia imagens captadas em direto do porto de Palma de Maiorca.
Ela encolhera-se quando uma câmara subaquática de um submarino — provavelmente o mesmo em que viajara — mostrou um torpedo a ser disparado. Outro monitor exibiu o momento em que o torpedo atingiu o casco de um navio de cruzeiro ancorado no porto. O navio inteiro estremeceu, erguendo a popa com a violência da explosão.
Só de imaginar que Joe se encontrava a bordo, o coração subiu-lhe à garganta
O centro de comunicações irrompeu em gritos vitoriosos. Ergueram-se punhos no ar. Ao seu lado, Nehir sorria com uma expressão feroz.
Depois, sem aviso, tudo mudou.
Os monitores exibiram diferentes imagens de um avião a sobrevoar a baía e a lançar cargas de profundidade. Seguiu-se uma sucessão de explosões subaquáticas. A câmara que captava a ação debaixo de água estremeceu com as ondas de choque, as imagens turvas convertidas num caos de clarões e bolhas. Numa questão de segundos, inclinou-se abruptamente para um dos lados. Depois, deixou de transmitir.
No iate, a euforia deu lugar a um silêncio pesado.
Elena ouviu o pai praguejar.
Lá se foi a tua lição, querido pai.
O pai virou-se para Firat.
— Se capturarem algum sobrevivente, corremos o risco de ficar expostos.
O embaixador franziu o sobrolho.
— A tripulação não sabe o suficiente para comprometer os nossos planos. Quando muito, devemos olhar para isto como uma contrariedade. Mais a mais, estes homens são leais. Não se deixarão apanhar vivos.
As palavras do embaixador pouco fizeram para atenuar a fúria no rosto do pai, que se virou para Elena.
— Parece que vamos ter de acelerar o trabalho — disse ele, quase entredentes, como que incapaz de descerrar os maxilares. — Conto que te certifiques de que isso acontece.
Ela limitou-se a abanar a cabeça.
Não vou continuar a fazer este jogo.
O pai deve ter percebido a sua determinação.
— Esta lição falhou, mas não quer dizer que não possa recorrer a outras.
O pai virou-se e lançou a mão ao coldre do guarda mais próximo, sacando-lhe a pistola. Ergueu a arma e premiu o gatilho. A cabeça do rabino Fine explodiu contra a parede do centro de comunicações e o corpo do homem tombou no chão.
Elena gritou e deu dois passos atrás, mas o gigante Kadir agarrou-a pelos ombros. O monsenhor cobriu o rosto e virou-se. O próprio embaixador Firat parecia chocado com a frieza daquela execução.
Com toda a calma do mundo, o pai devolveu a pistola ao guarda e esfregou as mãos, como se nada fosse. Virou-se novamente para ela.
— Fiz-me entender, minha menina?
Elena abanou a cabeça, demasiado chocada para reagir de outra maneira.
— Espero que não seja necessário repetir-me — prosseguiu o pai. — Vais ajudar no que for preciso. — Fez uma pausa e desviou o olhar para o monsenhor. — Caso contrário, a próxima morte não será tão misericordiosa.
Elena controlou-se o suficiente para acenar afirmativamente com a cabeça.
O pai virou-se para Nehir.
— Por favor, levem a minha filha e o monsenhor de volta para a biblioteca. — Lançando um último olhar a Elena, acrescentou: — Tens uma hora.
Aturdida, Elena nem se deu conta de onde estava enquanto era reconduzida para a biblioteca. Tinha o estômago às voltas, as lágrimas turvavam-lhe a visão e custava-lhe respirar. Quando alcançaram finalmente a biblioteca, Nehir empurrou-a lá para dentro.
— Uma hora! — repetiu a mulher antes de virar costas.
Kadir permaneceu no corredor.
O monsenhor foi ao encontro dela e abraçou-a. Elena sentiu os braços frágeis do padre a tremer. Ainda assim, o sacerdote fez o possível para a consolar.
— O Howard está nos braços do Senhor — murmurou ele. — Na paz eterna.
— Como é que o meu pai foi capaz de fazer isto? — disse ela. — Quem é este homem?
— Não sei. — O monsenhor suspirou, o tremor nos braços menos evidente. — Apesar da minha idade, continuo sem compreender a depravação no coração de alguns homens. Nasci em plena guerra, na sequência de outra que disseram ser a guerra que terminaria com todas. Que tamanha ingenuidade. Veja-se o que continuamos a fazer uns aos outros.
Elena respirou fundo e acenou com a cabeça colada ao peito dele.
O padre afastou-a finalmente, segurou-a à distância dos braços esticados e fitou-a, para que ela pudesse ler-lhe a sinceridade no olhar.
— Não tem obrigação de os ajudar.
— Mas...
— Não, minha filha. Vivi uma vida longa. Se tiver de morrer, assim será.
— Eles vão torturá-lo.
— Apenas a carne. Não conseguem tocar na minha alma. Ao longo dos tempos, todos os santos, homens e mulheres, sofreram pelo bem maior. — O monsenhor sorriu. — Não digo isto porque me considero um candidato à santidade. Não acredito que o halo me ficasse bem.
Elena sentiu-se grata pelo humor do padre, pela disponibilidade de se sacrificar, mas também conseguia ver o medo no olhar dele. Por muito que ele tentasse escondê-lo. Talvez o velho padre fosse capaz de suportar as brutalidades que lhe seriam infligidas. Porém...
Não posso permitir que isso aconteça.
Desviou o olhar para o relógio na parede.
— Tenho trabalho a fazer.
Afastando o nervosismo, encaminhou-se na direção da secretária e das pilhas de livros. Tinha uma ideia geral de qual seria o destino seguinte de Hunayn e visualizou uma vez mais a fenda flamejante ao longo da costa de África, estendendo-se para lá do estreito de Gibraltar.
— Posso ajudar? — perguntou o monsenhor, juntando-se a ela.
Elena acenou com a cabeça.
— Tenho muito para fazer e quase nenhum tempo. Qualquer ajuda é bem-vinda.
— Darei o meu melhor.
16h10
Elena permanecia rodeada de livros e apontamentos quando ouviu vozes no corredor. Nehir estava de volta, mas não regressara sozinha. Vinha acompanhada pelo embaixador Firat e pelo pai.
Está na hora.
Endireitou as costas e respirou fundo.
Ao longo da última hora, pesquisara dezenas de pistas, velhas e novas. Sabia que precisava de fornecer resultados satisfatórios, que não lhe bastava apontar mais um destino da viagem de Odisseu. Se não fosse capaz de impressionar o inimigo, o velho padre sofreria as consequências. Em todo o caso, apesar da ajuda do monsenhor, o tempo passara a correr.
O grupo entrou na biblioteca.
Elena sentiu o peso de todos os olhares concentrados nela.
— O que tens para nos dizer? — perguntou o pai, indo direito ao assunto.
Elena lutou para organizar as ideias. Fitou os livros e os apontamentos amontoados em torno do mapa dourado, a mente às voltas com os pedacinhos do puzzle que tentava encaixar numa imagem coerente e compreensível.
— Qual foi o destino seguinte do comandante Hunayn? — pressionou Firat.
Ela encolheu os ombros.
— Não sei.
O que era verdade.
No momento em que ativara o mapa e o rio flamejante se estendera ao longo da costa norte de África e através do estreito de Gibraltar, a sua atenção cedera ao fascínio. A verdade é que nem sequer tinha reparado se o barquinho de prata parara em algum porto.
O pai não gostou de ouvir aquilo e cravou o olhar em monsenhor Roe.
Elena ergueu a mão.
— Porém, estou convencida de que sei onde ele terminou a viagem.
Nehir deu um passo em frente.
— Como assim? Está a dizer que descobriu a localização do Tártaro, onde se escondem os portões do Inferno?
Elena engoliu em seco.
— Acho que sim. Ou, pelo menos, tenho uma ideia de onde ele decidiu procurar. Sobretudo se baseou a decisão nestes textos antigos.
— Diga-nos o que sabe — disse Firat. — Logo veremos se é assim.
Elena anuiu.
— Hunayn depositava uma enorme fé nas palavras e sabedoria de Estrabão, sobretudo na sua grande obra, Geografia. Nesse texto, Estrabão teoriza acerca da localização do Tártaro, colocando como hipótese a mítica cidade de Tartesso.
O pai franziu o sobrolho.
— Tartesso? O nome é muito parecido com Tártaro.
— Exatamente o que Estrabão terá pensado. — Elena pegou nos seus apontamentos. — Esta passagem é um bom exemplo: Podemos admitir que Homero, tendo ouvido falar de Tartesso, batizou a mais longínqua das regiões inferiores como Tártaro, alterando um punhado de letras.
— E onde fica Tartesso? — perguntou Firat.
— Segundo Estrabão e outras fontes, situa-se a oeste, para lá dos Pilares de Hércules. O antigo nome para o estreito de Gibraltar. — Elena endireitou as costas. — Para as pessoas desse tempo, tudo o que se situava para lá desse ponto era visto como aziago. Era onde o Sol se punha para dar lugar à noite. Se tivessem de imaginar um lugar para o Inferno, esse lugar situar-se-ia para lá dos Pilares de Hércules.
— Mas onde, ao certo? — insistiu o pai.
— Algures na costa sul da Ibéria, logo a seguir ao estreito de Gibraltar. Uma cidade de grande riqueza e poder. — Elena consultou novamente as suas notas. — Tenho aqui uma descrição de Éforo, um historiador grego do século quatro a.C.: Tartesso é um mercado próspero, com muito estanho transportado ao longo do rio, juntamente com ouro e cobre. — Virou-se para Nehir. — Não vos parece estranho que o estanho seja mencionado primeiro que o ouro?
Nehir encolheu os ombros.
— Porque é essencial para a produção de bronze — explicou Elena. — Tartesso era conhecida como um centro de produção de bronze e dos elementos para o fabricar. — Visualizou as criaturas libertadas no porão do navio de Hunayn. — Alguém que quisesse construir um exército infernal iria precisar de muito bronze.
Enquanto os outros se entreolhavam, ela virou-se para monsenhor Roe. Era a vez de o padre intervir.
Roe aclarou a garganta.
— Mas existem outras histórias associadas à cidade de Tartesso. E podemos encontrá-las numa fonte fiável.
— Onde? — perguntou Firat.
— No Antigo Testamento.
O pai de Elena olhou para ela, como que à espera de confirmação. Elena limitou-se a acenar com a cabeça na direção do monsenhor.
Roe prosseguiu.
— Muitos dos livros do Antigo Testamento mencionam uma cidade misteriosa chamada Társis. Por exemplo, no Livro de Ezequiel, podemos ler: Társis fez negócios contigo por causa dos teus numerosos e apreciados bens; seus negociantes trocavam prata, ferro, estanho e chumbo pelas tuas mercadorias.
— Posto de outro modo — acrescentou Elena —, mais uma cidade mítica, de grandes riquezas, com um nome semelhante a Tártaro.
— Muitos arqueólogos bíblicos acreditam que Társis e Tartesso são a mesma coisa — disse Roe.
Firat franziu o sobrolho.
— E qual é a importância disso?
— Por causa de uma série de rumores acerca de Tartesso e Társis — explicou Elena. — Histórias milenares, que subsistem desde os gregos antigos aos dias de hoje.
— Que rumores? — perguntou o pai.
— Acredita-se que esta cidade não era apenas rica, mas o berço de uma civilização avançada. Alguns comparam-na à Atlântida.
Houve uma nova troca de olhares. Elena fez um compasso de espera, permitindo que aquela informação fosse devidamente digerida. Depois disse:
— Quer seja ou não verdade, não tenho dúvidas de que o comandante Hunayn, guiado pelas teses de Estrabão e outros, se aventurou para lá dos Pilares de Hércules à procura de Tartesso, o berço de uma civilização avançada e a hipotética entrada para o mítico Tártaro.
— Mas onde fica esse lugar, exatamente? — quis saber Firat.
— Posso dar uma localização bastante aproximada — admitiu Elena, pegando numa folha de apontamentos. — Cortesia de um escritor do século dois d.C., Pausânias. Nas palavras dele, Tartesso situa-se na terra dos Iberos, ao longo de um rio que flui para o mar através de duas bocas... alguns acreditam que Tartesso era o antigo nome de Carpia.
— E isso ajuda-nos como? — perguntou o pai.
— Alguns estudiosos modernos analisaram esta e outras descrições. Acreditam que Tartesso se localizava no delta de um rio entre Cádis e Huelva, na costa sul de Espanha. Se querem encontrar a entrada do Tártaro, é onde ela está. Não posso ajudar-vos mais do que isto.
Elena sentou-se mais direita e aguardou o veredito do grupo. As cabeças juntaram-se, houve uma troca de comentários excitados e depois viraram-se outra vez para ela.
Pelo sorriso orgulhoso do pai, Elena soube a resposta antes de ele abrir a boca para lhe dar os parabéns.
— Eu sabia que conseguias, Elena.
Ela devolveu-lhe o sorriso.
Vai-te foder.
O pai e os outros abandonaram a biblioteca, prontos para navegar até à cidade perdida de Tartesso. Elena deixou-se cair na cadeira de cabedal.
Roe juntou-se a ela, sentando os seus ossos velhos com um pouco mais de cuidado.
— Acredita mesmo que terá sido esse o destino do comandante Hunayn?
Elena fitou o mapa, visualizando novamente o rio flamejante a estender-se desde Vulcano, passando pela Sardenha, norte de África e estreito de Gibraltar.
— Não tenho dúvidas. O rumo que traçou foi exatamente esse — respondeu com absoluta franqueza.
Mas não foi onde ele acabou.
Desviou o olhar para as portas da biblioteca, sentindo uma fria satisfação. Ela era filha de quem era, a filha de um senador. Quando criança, passara muitas horas em campanha com o pai, partilhando as luzes da ribalta com ele. Tinha sido onde aprendera a arte de misturar a verdade com a mentira.
Como acabara de fazer.
Virou-se e fitou a costa de África à distância. Sabia que precisava de ganhar tempo para Joe e os outros. Era a única hipótese de chegarem primeiro à verdadeira localização do Tártaro, o que implicava enviar o inimigo numa caça aos gambozinos.
Claro que nada disso invalidava a pergunta óbvia.
E o Joe e os outros serão capazes de descobrir tudo isto sozinhos?
28
25 de junho, 20h08 CEST
Algures sobre o mar Mediterrâneo
Espero que esteja certo.
Gray fechou os olhos, atormentado pela dúvida.
Sentiu o corpo ser pressionado contra o assento à medida que o Poseidon subia praticamente a pique sobre o oceano, deixando para trás o caos de Palma de Maiorca. Deixar a ilha tinha demorado muito mais tempo do que antecipara.
O comandante Pullman ajudara a coordenar a captura do submarino, um Classe Lada de fabrico russo. Com exceção de dois elementos, todos os tripulantes tinham morrido durante o ataque ou se tinham suicidado com um tiro na cabeça. Tudo para não serem capturados. O par sobrevivente estava a ser interrogado, mas Gray calculava que os dois homens deviam ser arraia-miúda, quem sabe até mercenários contratados. Dificilmente saberiam alguma coisa relevante, quanto mais a identidade dos chefes.
Por fim, quando o grupo abandonou o navio de cruzeiro e subiu a bordo do Poseidon, estava quase a escurecer. Gray olhou pela janela quando o avião se inclinou na direção do sol poente. Nem sequer dissera ao comandante Pullman para onde se dirigiam, indicando-lhe apenas que voasse na direção do estreito de Gibraltar.
O mesmo se podia dizer em relação ao diretor Crowe e aos próprios companheiros. Seichan encontrava-se sentada ao seu lado, Kowalski e Maria atrás e Bailey e Mac à frente. Gray confiava na equipa, bem entendido, mas decidira guardar as suas teorias para si mesmo. Não queira discutir o assunto na confusão de Palma de Maiorca.
O avião estabilizou finalmente na altitude de cruzeiro.
Bailey virou-se para trás.
— E agora já podemos saber para onde vamos?
Gray desapertou o cinto.
— Venham comigo.
Todos se levantaram e abandonaram os seus lugares. Passaram pela fila de estações de monitorização no lado esquerdo. Os tripulantes ali sentados ignoraram o grupo e mantiveram-se atentos aos ecrãs.
Gray conduziu a equipa para a traseira do avião, onde a copa da aeronave oferecia mais espaço para conversarem à vontade. Levava consigo o tablet e a secção que arrancara do mapa de Da Vinci. Pousou os dois objetos no balcão e virou-se para o grupo.
— Primeiro, vamos lá certificar-nos de que não perdi o juízo.
Kowalski pôs a mão no ar, pronto para atirar uma piada qualquer. Gray franziu o sobrolho e o companheiro baixou o braço.
— Força. Somos todos ouvidos — disse Mac.
Maria acenou com a cabeça.
Seichan limitou-se a cruzar os braços, como se tivesse já dado como certo o que ele iria dizer.
Gray virou-se para Kowalski.
— Disseste que, quando a Elena ativou o mapa, tu não reparaste onde terminava a fenda flamejante. Não sabemos se a Elena reparou ou não, mas ela devia ter uma ideia do que estava a ver. Acho que tentou confirmar isso mesmo nos tais livros de geologia.
— Confirmar o quê? — quis saber Bailey.
Gray ergueu a mão, pedindo ao padre que lhe permitisse terminar o raciocínio.
— Se bem se lembram, a Elena mencionou que a fenda no mapa lembrava uma falha tectónica.
— Sim, mas o que tem isso que ver com o resto? — perguntou Maria.
Gray pegou no tablet e abriu uma imagem que guardara antes. Tratava-se de um mapa do Mediterrâneo, onde se viam as cinco placas tectónicas que suportavam a região inteira.
Os outros juntaram-se para ver melhor.
— O que é que isto vos parece?
Por resposta, apenas obteve sobrolhos franzidos e cabeças a abanarem.
A sério? Ninguém?
Gray suspirou, interrogando-se se não perdera mesmo o juízo e começava a ver padrões onde não existiam. O diretor Crowe recrutara-o por causa desse talento, essa capacidade de ver coisas que mais ninguém conseguia. E se tivesse perdido a sua sagacidade? E se estivesse a imaginar coisas?
Seichan pousou-lhe a mão no braço e fitou-o, mostrando-lhe que confiava nele.
— Mostra-nos — disse-lhe.
Gray passou o dedo no ecrã e substituiu a imagem. As divisões entre as placas tectónicas encontravam-se agora assinaladas com linhas tracejadas, como que indicando um circuito naquele labirinto geológico.
Segurou o tablet mais acima, para que todos pudessem ver melhor.
É impossível que continuem sem perceber.
Maria foi a primeira a reconhecer o padrão. Bailey arregalou os olhos. Seichan sorriu e encolheu os ombros, pouco surpreendida. Mac limitou-se a acenar com a cabeça.
Kowalski foi o único que franziu o sobrolho.
— Não percebo...
Maria tentou explicar e apontou para a costa da Turquia.
— Esta linha tracejada... onde a placa da Anatólia encontra a eurasiática: ela começa em Troia.
Bailey pegou nas palavras dela e prosseguiu.
— A partir daí, serpenteia pelas ilhas do mar Egeu, antes de passar pelo sul da Grécia.
Mac apontou para o mar Jónico.
— Se bem me lembro, o barquinho de prata fez o mesmo trajeto até à costa de Itália, certo? Passou por baixo da bota italiana, pela Sicília, e continuou até àquelas ilhas vulcânicas.
Kowalski acenou com a cabeça.
— Até Vulcano... Lembro-me de que o rio flamejante seguia depois para o sul da Sardenha, onde voltava a descer em direção a África e ao longo da sua costa. O percurso do barquinho foi praticamente idêntico ao que tens no ecrã.
Gray anuiu.
— O navio de Odisseu parece ter seguido ao longo das divisões das placas tectónicas. Ou é o que o mapa indica, pelo menos. Talvez tenha sido até o que Homero tentou relatar na sua prosa poética.
— Mas como é isso possível? — perguntou Bailey. — Como é que estes povos antigos podiam saber alguma coisa sobre placas tectónicas?
Gray encolheu os ombros.
— Não sei. Estes mesmos povos registavam a atividade vulcânica da região nos seus textos, os tremores de terra. Talvez soubessem mais do que pensávamos acerca das forças por trás desses acontecimentos.
Maria ofereceu uma explicação.
— Sabemos que os fenícios, os gregos e os egípcios possuíam conhecimentos avançados de astronomia e navegação. Mantinham registos de locais importantes, como as grandes pirâmides e as outras maravilhas do mundo antigo, e também de marcos geográficos, como o monte Vesúvio. Se calhar, o movimento destes locais ao longo de milénios deu-lhes uma ideia de como o chão se movia debaixo dos pés.
Gray sabia que esse era essencialmente o método pelo qual os geólogos modernos acompanhavam a deslocação das placas tectónicas, utilizando a ciência da interferometria para rastrear a alteração das distâncias entre radiotelescópios ou recetores de GPS, para assim recolherem dados da posição de marcos terrestres e registar os seus movimentos.
Mac sugeriu outra opção, fundamentada nos seus conhecimentos enquanto climatologista.
— Ou talvez eles fossem capazes de detetar anomalias magnéticas ao longo destas falhas geológicas.
Gray anuiu.
Poderia a combinação destas explicações ser a resposta?
Kowalski fez a pergunta mais importante.
— Bom, e como é que isto nos ajuda a saber para onde temos de ir?
Gray levantou novamente o tablet e mostrou a secção do mapa onde a linha que dividia as placas africana e eurasiática se prolongava para oeste, cortando ao longo do norte de Marrocos. Para se explicar melhor, abriu uma nova imagem que mostrava um mapa topográfico daquele país africano.
— Obviamente, Hunayn não podia levar o navio por terra — disse. — Por isso, ele continuou pelo estreito de Gibraltar, navegando depois para sul, a fim de retomar a mesma linha na costa oeste de Marrocos.
Bailey semicerrou os olhos e acenou lentamente com a cabeça.
— Pela conversa que teve com monsenhor Roe, está convencido de que Hunayn procurava o misterioso reino dos feácios.
Gray anuiu.
— Uma terra descrita como longínqua ou no fim do mundo.
— Por outras palavras, uma terra situada para lá do estreito de Gibraltar — observou Bailey.
Maria franziu o sobrolho.
— Mas como podemos ter a certeza de que ele navegou para sul à procura da continuação da linha?
— Primeiro, pela origem da palavra feácio, cuja raiz grega é phaios, que significa cinzento. Posto de outro modo, os feácios são o «povo cinzento». Ou uma tribo de pele escura, segundo alguns estudiosos.
— Africanos... — notou Mac.
Gray anuiu.
— E depois temos isto.
Gray pousou o tablet e pegou no pedaço dourado do mapa. Representava o pedaço de África a sul do estreito de Gibraltar. Ergueu-o e inclinou-o ligeiramente, para que os outros pudessem ver melhor as características tridimensionais do terreno esculpidas na sua superfície dourada. Passou um dedo ao longo da cordilheira de montanhas que atravessava Marrocos, em tudo semelhante à imagem no ecrã.
— Esta é a cordilheira do Atlas. Foi formada pela colisão das placas africana e eurasiática. A crista central, mais próxima da fronteira de subducção, é o Alto Atlas. Mais abaixo, encontra-se o Pequeno Atlas. Entre os dois, existe um vale profundo. Se repararem, há um rio que desce das terras altas até ao mar. É a bacia do rio Suz.
Gray passou o pedaço do mapa dourado aos outros, para que todos pudessem examiná-lo.
Quando chegou a vez de Bailey, Gray perguntou:
— O que vê a montante, enterrado entre as montanhas do Alto Atlas?
Bailey aproximou o pedaço dos olhos.
— Vejo um rubi. É isso?
— E o que representam os rubis neste mapa?
— Vulcões! — respondeu Kowalski.
Gray endireitou as costas.
— Pesquisei. Não existe nenhum vulcão nesse local.
Maria apertou o braço de Kowalski.
— Hunayn deve ter marcado este local por uma razão — prosseguiu Gray. — Pode não indicar a existência de um vulcão, porém, se ele quisesse assinalar um inferno subterrâneo, um rubi seria uma escolha apropriada.
Bailey comprimiu os lábios, nitidamente incomodado com qualquer coisa. Por fim, disse:
— Pensava que os feácios viviam numa ilha.
— Pois, mas esse é um erro comum — explicou Gray. — Não existe nenhuma passagem na Odisseia que faça referência a uma ilha. Homero apenas diz que os feácios viviam junto ao mar.
— Uma cidade junto à costa enquadra-se perfeitamente nessa descrição — disse Maria.
Vozes e passos desviaram a atenção do grupo. O comandante Pullman aproximou-se, acompanhado pelo coordenador tático. Fitou o grupo, com uma expressão evidente de quem estava farto de continuar às escuras e queria respostas.
— Estamos a aproximar-nos do estreito de Gibraltar — anunciou. — Preciso de saber para onde vamos.
Gray já tinha escolhido o destino, uma cidade junto ao rio Suz e o ponto de entrada para um labirinto de cursos de água nas montanhas.
— Agadir — respondeu. — Uma cidade costeira conhecida pelo turismo, a quinhentos quilómetros de Casablanca. Quero que nos deixe lá. Depois, mantenha-se por perto.
Pullman preparava-se para perguntar porquê, mas Gray não lhe deu hipótese, lançando-lhe um olhar firme. O comandante bufou, rodou sobre os calcanhares e afastou-se com o coordenador tático.
— Parece que estamos a ser sequestrados — disse ele para o outro.
Gray não lhe deu importância. Sabia que aquele avião não era a melhor escolha para passarem despercebidos — um jato privado seria a opção mais indicada —, mas o Poseidon estava equipado com a melhor tecnologia em sistemas de sonar, radar e rastreamento. Precisava de contar com aqueles olhos no céu, que poderiam ser vitais para o sucesso da busca pelo mítico mundo subterrâneo do Tártaro.
— Quer dizer que vamos algures para sul de Casablanca — disse Maria.
Kowalski riu-se.
— De todos os bares em todas as cidades... — Fez uma pausa e virou-se para Maria. — Espera, Agadir também tem bares, não tem?
29
26 de junho, 10h22 WEST
Agadir, Marrocos
Sim, Agadir tinha bares.
Enquanto o SUV alugado avançava pela estrada esburacada, Maria protegeu os olhos do sol do meio da manhã. Ainda estava a curar uma ligeira ressaca. A cabeça latejava e o estômago acusava cada solavanco. Afundada no banco da frente, apertava contra si um termos de café. Em todo o caso, suspeitava que o mal-estar tinha menos que ver com os cocktails de gim que tinha bebido e mais com a falta de descanso.
À chegada a Agadir, o avião teve de voar em círculos enquanto Painter, nos Estados Unidos, tentava obter autorização para aterrarem na base aérea real nos arredores da cidade. Era já perto da meia-noite quando o aparelho tocou finalmente no solo. A área fora isolada. A versão oficial para aquela escala: um avião americano a necessitar de reabastecimento. Qualquer outra informação sobre o grupo só seria partilhada consoante fosse necessário.
Apesar disso, Gray apressou-se a transferir o grupo da base para um hotel discreto junto ao mar. Infelizmente, havia um bar na porta ao lado. Demasiado cansados para dormirem, ela e Joe decidiram beber um copo. Claro que um copo passou a três. Regressados ao quarto do hotel, dedicaram a hora seguinte a «matar as saudades» um do outro. Quando adormeceram, passava das três da manhã.
Ela desviou o olhar para o banco do condutor. Joe conduzia com uma mão no volante e o cotovelo apoiado na calha da janela aberta. Tinha um charuto entalado nos dentes. Ele inclinou-se na direção da janela e soprou uma nuvem de fumo, que foi imediatamente devolvida pelo vento. Ainda assim, a brisa oceânica ajudava a clarear as ideias — mais do que o café.
Joe parecia em perfeitas condições, para não dizer renovado, o que de todo não condizia com alguém que dormira quatro horas com um copo a mais. Era certo que os dois tinham dormitado no avião, mas havia algo que mudara nele. No hotel, dormiram nus e destapados, dado que o calor convidava a isso. Joe segurara-a nos braços a noite inteira, envolvendo-a com o enorme corpanzil. O toque dele, porém, parecera menos possessivo, mais descontraído do que nos dias anteriores. Ela interrogara-se se ele se apercebera das dúvidas que a atormentavam. Nos últimos meses, quanto mais se afastava, mais ele tentava segurá-la, um círculo vicioso que só piorara as coisas e ameaçara o seu futuro juntos.
Mas esse círculo quebrara-se finalmente.
Ela sabia-o, e ele também, de certa forma. Lembrava-se de onde e como a viagem começara, em África, onde esperava que um reencontro com o gorila Baako ajudasse a reabrir as frestas na armadura de Joe, revelando uma vez mais o seu lado mais terno e reacendendo o que se perdera na relação No fim de contas, descobrira que ele não mudara. O lado sensível nunca deixara de existir, fazia parte dele, tal como os próprios ossos. Quem tinha mudado era ela ao alimentar e permitir que as dúvidas se interpusessem entre os dois. Joe apenas reagira e tentara agarrar-se o mais que podia.
Estendeu o braço e apertou-lhe a coxa, agradecendo-lhe em silêncio.
Joe contraiu o rosto e quase trincou o charuto.
— Desculpa — disse ela, retirando a mão. Esquecera-se completamente da queimadura.
Joe largou o volante, agarrou-lhe na mão e voltou a pousá-la na coxa dele. Deu-lhe uma palmadinha e agarrou novamente no volante.
Ela sorriu-lhe e recostou-se no banco. Sentia-se melhor, mais segura, confiante. Até lhe passara a dor de cabeça. Virou-se para apreciar a paisagem. De um lado, as dunas brancas contrastavam com um maravilhoso mar azul. Do outro, os campos verdes cultivados subiam na direção do Alto Atlas. As cristas irregulares das montanhas recortavam-se no céu a norte, descendo para o oceano Atlântico a oeste e subindo ainda mais alto para leste, onde os picos mais elevados — alguns acima dos quatro mil metros — ainda resplandeciam com as neves brancas do inverno.
Cada vez mais perto, a cidade turística de Agadir crescia em tamanho à frente deles, um oásis luxuriante que abraçava uma longa linha de praias em forma de quarto crescente, onde se destacava a presença colorida dos muitos restaurantes e bares. As palmeiras ondulavam ao vento, convidando-os a repousar os ossos cansados.
Maria não esperava deparar-se com aquela exuberância. Sempre imaginara Marrocos como um país de rochas vermelhas e desertos, mas o vale do rio Suz era um éden fértil, rodeado e protegido a norte e a sul pelas montanhas criadas pelas forças tectónicas no subsolo.
Na terceira fila de bancos do SUV, o padre Bailey lembrou a história e a relação daquelas montanhas com os gregos.
— Os berberes chamam a estes picos Idraren Draren, a Montanha das Montanhas, mas o nome dos gregos antigos prevaleceu. Os gregos acreditavam que foi aqui, no fim do mundo, que o titã Atlas foi condenado por Zeus a segurar os céus por toda a eternidade.
— E isto era o fim do mundo? — perguntou Mac, sentado ao lado do padre.
— Para os gregos antigos, sim. Tudo o que houvesse para lá do estreito de Gibraltar era terra de ninguém.
E onde se escondia a entrada para o Tártaro.
Maria fitou as poderosas montanhas, focando a atenção no passado geológico bastante palpável nas camadas roxas, vermelhas e brancas das encostas, depósitos sedimentares de oceanos pré-históricos. Reparou nas faixas de basalto negro de vulcões extintos. O objetivo final escondia-se naquele labirinto de rios, penhascos e quedas-d’água.
Mas onde, ao certo?
Felizmente, o grupo contava com mais ajuda do que aquela que podiam retirar de um pedaço do mapa dourado com um rubi incrustado. Atrás dela, Gray mantinha-se em contacto com o comandante Pullman, cujo avião se encontrava outra vez no ar. A tripulação do Poseidon recorria ao equipamento disponível para auxiliar na busca. Gray também recorrera ao diretor Crowe, que arranjara maneira de disponibilizar um satélite para varrer a área com tecnologia GPR, um sistema de radar capaz de penetrar o solo e detetar bolsas escondidas que poderiam apontar a existência de uma cidade subterrânea.
Assim que Gray desligou o telefone satélite, Seichan perguntou o que todos queriam saber.
— Novidades?
— Nem por isso — admitiu Gray. — Ao que parece, estas montanhas não vão ao dentista há milénios. Os picos estão cheios de cavidades. Existem cavernas e túneis por toda a parte.
— Quer dizer que vamos ter de fazer isto da maneira mais difícil — observou Kowalski, conduzindo já nos arredores da cidade e ao longo de um campo de golfe. — Um bocadinho a pé e um bocadinho andando.
A observação não era exatamente verdadeira.
A estrada terminou uns metros à frente, numa pequena marina. Naquela zona, o manto verde do Suz ocupava uma área superior a dois campos de futebol até à margem oposta. Havia cerca de duas dezenas de barcos ancorados num pontão em forma de L, onde se incluíam elegantes embarcações de recreio, de pesca e outras para alugar a turistas.
Joe estacionou o SUV no parque, o grupo apeou-se e começou a recolher o equipamento guardado em mochilas novas. Sempre otimista, Gray visitara algumas lojas de ferramentas e equipamento desportivo naquela manhã. Comprara lanternas, capacetes, cordas e outro equipamento de escalada e espeleologia. Aqueles desportos eram populares na região, o que não era de estranhar, e o mesmo se podia dizer da prática de canyoning, dado que não faltavam desfiladeiros que escondiam oásis e piscinas naturais rodeadas de palmeiras.
Joe retirou da bagageira a mochila mais importante, que colocou aos ombros com esforço. Estava cheia de armas e munições, incluindo uma caçadeira que automaticamente confiscou para si.
No hotel, Gray disponibilizara uma SIG P320 para cada membro da equipa, com os respetivos coldres. O padre Bailey fora o único que recusara a arma, mas Gray convencera-o. «Se não quiser usá-la para matar, use-a para se defender», aconselhara.
Joe endireitou-se com a mochila às costas.
— Onde está o raio do guia?
— Por aqui — disse Gray, encaminhando-se para a marina.
O barco que procuravam encontrava-se ancorado no final do pontão. Uma lancha de alumínio, com uns nove metros de comprimento e cabina. Parecia bastante usada, mas o brilho das anteparas e do casco também indicava que era bastante estimada. O comandante, uma jovem que não teria mais de vinte anos, debruçava-se sobre a popa e mexia no motor fora de borda, que estava levantado.
A rapariga endireitou-se quando os viu chegar. Usava um macacão sujo de óleo, bem apertado na cintura, e um chapéu de cowboy. O rosto de pele perfeita, cor de caramelo, era emoldurado por caracóis castanho-escuros. Os olhos eram incrivelmente azuis. Parecia alguém que saíra das páginas da Vogue, mas aquela rapariga não era uma modelo mimada que passava a vida num estúdio de Pilates.
Nenhum dos homens do grupo se mostrou indiferente à beleza dela, nem o padre Bailey. De repente, era como se todos tivessem perdido o pio.
Maria tomou a iniciativa e avançou.
— Charlie Izem?
A rapariga arregaçou as mangas, revelando os antebraços musculados. Debruçou-se por cima da popa e apertou a mão de Maria.
— Sou eu — disse com um ligeiro sotaque francês.
Apesar da evidente ascendência berbere, a rapariga devia ter algum sangue europeu, calculou Maria.
— Os seus companheiros esperavam um homem, oui? — observou Charlie, piscando o olho e acenando ao grupo para que subissem a bordo. — Ou alguém mais velho, non?
Joe e os outros fecharam as bocas abertas e subiram a bordo.
— Ninguém me ouviu reclamar, pois não? — murmurou Joe.
Maria ouviu-o e lançou-lhe um olhar reprovador.
Enquanto embarcava, Seichan estudou a rapariga pelo canto do olho. Reparou na pistola que ela trazia à cintura e acenou com a cabeça aprovadoramente.
— Ouvimos muitas coisas boas acerca de si — disse Gray, apertando também a mão da jovem. — Dizem que conhece o Suz melhor que ninguém.
— A minha família trabalha neste rio há mais de um século. Eu comecei com nove anos. O Suz é temperamental e traiçoeiro, mas damo-nos bem. A maior parte das vezes, pelo menos.
Charlie virou-se para Mac e ajudou-o com a mochila. O climatologista já não trazia o braço ao peito, mas o ombro continuava a doer-lhe. Mac não se queixara, mas Charlie apercebera-se de que havia qualquer coisa de errado com ele.
— Há quanto tempo é comandante deste barco? — perguntou o padre Bailey.
Charlie olhou em volta, certificando-se de que todos estavam instalados.
— O comandante não sou eu — respondeu, esticando-se para soltar a amarra na popa. — Está na cabina, a certificar-se de que está tudo pronto antes de partirmos. Anda sempre ocupado, aquele.
Ela virou-se e assobiou.
Uma forma pequena saiu da casa do leme a saltitar sobre as pernas traseiras. Avançou pelo convés e pulou para o ombro de Charlie quando ela se endireitou.
A aparição do macaco arrancou sorrisos a todos, exceto a um passageiro.
Joe resmungou e deu um passo atrás.
10h55
O que se passa com as mulheres e os macacos?
Com o rosto contraído, Kowalski recordou as más experiências que tivera com aqueles animais. Era verdade que se afeiçoara a Baako, mas o gorila tinha tamanho de gente e sabia linguagem gestual. Além disso, as coisas não tinham acontecido da noite para o dia. Por sua vez, aquele pequenote arrepiava-o. Bastava-lhe olhar para o rosto de velho, como uma maçã enrugada, para não falar dos olhos pretos.
Não, obrigado.
Enquanto ele se afastava do macaco, todos os outros se aproximaram.
— Este é o Aggie — disse Charlie. — Diminutivo para aghilasse, que significa «leão» em tashelhit, o idioma local. — Charlie virou-se e fingiu que rosnava, e o macaco imitou-a, mostrando as presas afiadas.
Kowalski estremeceu, enojado.
Charlie riu-se.
— Como veem, é um verdadeiro leão-do-atlas.
Maria observou o macaco com o olhar treinado de um primatologista. Reparou na pelagem castanha, mais amarelada na zona da barriga.
— É um macaco-de-gibraltar, não é? Uma espécie nativa e ameaçada, se bem me lembro.
— Sim. O Aggie ficou sem os pais, mortos por caçadores furtivos. Tinha à volta de quatro meses quando apareceu num centro de resgate com um braço partido.
— E agora que idade tem?
— Quase um ano. Ainda falta muito para ter maturidade suficiente para se juntar a um bando.
— Isso demora o quê? Quatro anos, no caso dos machos?
— Quatro anos para a maturidade sexual, mas a ideia é começar a reintroduzi-lo no meio ambiente em metade desse tempo.
Maria e Charlie continuaram a conversar sobre Aggie e encaminharam-se para a cabina. Além de comandante experiente, Charlie era uma estudante de zoologia, de momento a gozar as férias de verão. Mas não havia dúvida de que sabia tudo o que havia a saber sobre barcos, o que contava como um ponto a favor para Kowalski.
Sem demoras, as amarras foram soltas e o barco começou a avançar rio acima, impulsionado pelo motor fora de borda.
Maria regressou passados uns segundos, deixando Charlie concentrada no leme.
— Adorável, não é? — disse ela, sorrindo.
— A Charlie? Sim, é uma brasa.
Maria deu-lhe um murro no braço.
— Estou a falar do macaco.
Kowalski revirou os olhos e acenou na direção da cabina.
— Chamas-lhe macaco, mas ele não tem...
Kowalski apontou para o próprio rabo.
— Uma cauda? — perguntou Maria.
— Sim, uma cauda. Isso não o torna um primata? Em África, passavas a vida a corrigir-me quando chamava macaco ao Baako.
— Alguns macacos têm caudas mais curtas, nem que sejam vestigiais. Às vezes, não têm mais do que um centímetro.
Kowalski encolheu os ombros.
— Cada vez pior.
Maria suspirou e abanou a cabeça. Mac e Bailey estavam sentados na borda do barco. Gray e Seichan encontravam-se na cabina com Charlie. A porta estava aberta e Kowalski conseguia ouvir a conversa, que essencialmente se centrava nas características do rio.
Não prestou muita atenção e observou as montanhas, os picos serrilhados, os diferentes cursos de água e as várias cascatas. De vez em quando, apanhava vislumbres de desfiladeiros profundos cobertos de floresta, pequenos lagos escondidos, o brilho de pastagens verdejantes iluminadas pelo sol.
De acordo com o que ouvia, o rio Suz estendia-se ao longo de centenas de quilómetros, mas o caudal era controlado pela barragem de Aoulouz, cento e cinquenta quilómetros mais acima.
Kowalski ouviu Charlie pronunciar-se sobre a barragem.
— Antes da construção da barragem, no final dos anos oitenta, o rio era mais poderoso e bastante mais imprevisível. As inundações eram frequentes, sobretudo a seguir às tempestades de inverno ou durante o degelo da primavera. Por outro lado, no verão, podia ficar reduzido a um fio de água que mal dava para irrigar os campos. É certo que a barragem ajudou a estabilizar o temperamento do rio, mas não deixa de ser triste vê-lo perder a personalidade.
Kowalski deu consigo a acenar com a cabeça. Preferia a natureza selvagem e o menos possível tocada pelo homem. Deixem o rio ser um rio. Por outro lado, não era ele que corria o risco de ver a sua casa destruída numa inundação ou as colheitas perdidas por falta de água.
Charlie prosseguiu, fazendo um gesto largo para abranger a totalidade daquele vale fértil entre o Alto e o Pequeno Atlas.
— Há quem diga que há milhares de anos o Suz costumava encher esta região, que era mais uma baía que outra coisa.
Na cabina, Gray trocou um olhar com Seichan.
Kowalski não precisou de adivinhar o que lhe ia na cabeça.
11h17
O que tornaria este vale um porto perfeito para um povo de marinheiros.
Enquanto o barco navegava rio acima, Gray imaginou aquela paisagem cheia de água doce misturada com a água salgada do mar. Visualizou uma frota de barcos ancorada, à espera de invadir o Mediterrâneo.
Na altura, além da imensa baía, os afluentes que desciam das montanhas eram provavelmente rios. Estudou um riacho num dos lados, que conduzia a um desfiladeiro com gigantescas paredes calcárias. As paredes encontravam-se bastante afastadas do curso de água, o que sugeria que a passagem fora aberta por um rio muito mais poderoso.
Desviou o olhar para o tablet e consultou o mapa pormenorizado do rio Suz e respetivos afluentes. Calculara o melhor possível qual era o afluente que se localizava mais perto do local assinalado pelo rubi no mapa dourado. Virou o ecrã para Charlie.
— Sabe onde fica este canal?
Charlie pegou no tablet.
Ao lado de Gray, Seichan ofereceu uma azeitona a Aggie. O macaco saltou para o ombro dela, pegou na azeitona e começou a descascá-la e a mordiscá-la.
Seichan riu-se.
Mal terminou de comer a azeitona, o macaco cuspiu o caroço e desceu do ombro para o peito dela. Deteve-se um instante para lhe cheirar um dos seios, provavelmente apercebendo-se de um ligeiro odor a leite, embora ela tivesse usado a bomba naquela manhã.
O sorriso de Seichan desfez-se de imediato.
— Não te ponhas com ideias — disse para o macaco, devolvendo-o ao ombro de Charlie. — O bar está fechado.
Charlie entregou o tablet a Gray e fez uma festa ao animal, que exibia uma expressão tristonha.
— Não te preocupes, mon ami. Vais comer daqui a pouco. — Ela virou-se para Seichan. — Peço desculpa. Ele ainda é pequeno. Na natureza, os juvenis são criados por todas as fêmeas do grupo. Não são raras as vezes em que muitas alimentam a mesma cria.
— Pois, mas esta fêmea só alimenta a sua cria — disse Seichan.
Como que acusando a rejeição, o macaco afundou o rosto no pescoço de Charlie.
A rapariga virou-se para Gray.
— Oui, sei qual é esse afluente. Não fica longe, talvez a uns três quilómetros rio acima. Estende-se até às montanhas, mas o meu barco não pode avançar mais do que um quilómetro ou dois nessa ravina. A não ser que o degelo tenha sido forte.
Gray anuiu.
Esperemos que seja o suficiente.
Abandonou a cabina para ligar ao comandante Pullman e comunicar-lhe os progressos do grupo. Tornou a verificar os dados recolhidos pelo sistema GPR. Ampliou a zona do desfiladeiro em questão. À semelhança das montanhas em volta, os picos ao longo do desfiladeiro encontravam-se cheios de cavernas. Assinalou algumas que pareciam promissoras, mas sabia que só havia uma maneira de confirmar o que lá podia existir.
Só vendo.
Fitou o rio, imaginando uma vez mais o vale coberto de água e transformado numa imensa baía, as montanhas convertidas em linhas costeiras. Se na altura o canal em questão fosse suficientemente grande, teria sido um bom acesso ao mar.
Seichan chamou-o de volta à cabina.
Mais à frente, um curso de água juntava-se ao enorme caudal do Suz.
— É este? — perguntou Gray.
Charlie anuiu e, manobrando com destreza, apontou a proa nessa direção. A força da corrente era bastante mais forte no afluente, dado que era muito mais estreito. O motor rugiu com mais intensidade, o barco oscilou e endireitou-se. Passado um instante, navegava já pelo afluente acima.
Gray inclinou-se para ver melhor o terreno à frente. As paredes do desfiladeiro encontravam-se bastante afastadas das margens, sugerindo que o canal fora em tempos muito maior. Surpreendentemente, para lá dos campos cultivados junto ao Suz, uma densa floresta de cedros estendia-se agora ao longo daquela garganta sombria.
— Este afluente tem nome? — perguntou Seichan.
Charlie encolheu os ombros.
— Nenhum que conste nos mapas, mas nós, berberes, que vivemos neste lugar há milhares de anos, temos nomes antigos para tudo o que aqui existe. — Apontou com o queixo para diante. — Chamamos a este afluente Assif Azbar.
— Que significa?
— Rio do Infortúnio, mais coisa, menos coisa. O nome deve-se às muitas histórias de pessoas que aqui desapareceram ao longo dos séculos. Há quem diga que este lugar é assombrado. Hoje em dia, são poucos os que aqui vêm.
Seichan lançou um olhar a Gray. Não precisou de abrir a boca.
Se procuras a entrada do Inferno, escolheste o rio certo.
30
26 de junho, 11h20 CEST
Estreito de Gibraltar
Ainda prisioneira a bordo do Estrela da Manhã, Elena contemplava a vista para lá da janela panorâmica da biblioteca. Com alguma reverência, observava a gigantesca formação de rocha calcária que se erguia quatrocentos metros acima do mar. Quando o barco passou ao largo, o rochedo de Gibraltar encheu toda a extensão da janela.
— Um dos Pilares de Hércules — comentou monsenhor Roe ao seu lado. — Não é difícil percebermos de onde veio o nome. Basta olhar para o tamanho disto.
À medida que o majestoso iate avançava, o lado ocidental do rochedo ficou à vista, revelando uma série de docas e pontões, juntamente com a pequena baía e a cidade de Gibraltar aninhada na base das falésias calcárias. Elena desviou o olhar para o mar. Mais umas trinta milhas e estariam fora do estreito.
Um pouco menos de uma hora.
A partir daí, seriam outras trinta milhas até à cidade de Cádis, no sul de Espanha. O que significava que estava a ficar sem tempo.
O monsenhor recordou-a disso mesmo.
— Eles vão querer mais informações. São cerca de cem quilómetros de costa entre Cádis e Huelva.
Elena virou-se na direção dos livros, folhas e mapas espalhados pela biblioteca. Sentiu o coração bater mais depressa. No dia anterior, conseguira convencer os captores de que a quase mítica cidade de Tartesso — um lugar que muitas mentes do mundo antigo acreditavam ser o Tártaro — se situava algures naquela parte da costa de Espanha. Naturalmente, agora iria ter de os ajudar a estreitar a busca, indicando-lhes pelo menos alguns locais mais concretos.
Mas onde?
Contava ter mais tempo para encontrar respostas. Para mal dos seus pecados, o Estrela da Manhã tinha alguns trunfos na manga, ou, melhor dizendo, debaixo do casco. Virou-se novamente para a janela. Como aquela secção da biblioteca avançava da superstrutura, Elena conseguia ver o flutuador de estibordo a cortar o mar.
No dia anterior, depois de ela ter sido conduzida à biblioteca, o navio não poupara os motores. Acelerara da costa da Tunísia, revelando o que escondera na viagem anterior de três horas ao longo da costa de África. O gigantesco iate era, na verdade, um catamarã. Um irmão mais velho do anterior, muito mais pequeno. A navegar à velocidade máxima, o Estrela da Manhã erguera-se nos dois flutuadores e cortara as águas do Mediterrâneo como um punhal.
Mesmo assim, e apesar de toda a potência disponível, tinham sido necessárias dezasseis horas para completar a viagem até ao estreito de Gibraltar. Elena esperava que demorasse mais, não só para seu bem, mas também para dar mais tempo ao grupo de Joe, de modo a eles terem uma oportunidade real de decifrar aquele mistério milenar.
Ainda assim, será que faria diferença?
Não sabia se Joe e os outros tinham feito progressos. Para os ajudar, precisava de manter o inimigo na costa de Espanha, o que implicava enviar aqueles filhos da mãe numa demorada caça aos gambozinos, convencendo-os de que procuravam no lugar certo.
Desviou o olhar para sul, como se lhe fosse possível espreitar através do navio e ao longo da costa oeste de Marrocos. Lembrava-se de quando ativara o mapa, de como o rio flamejante atravessara o estreito de Gibraltar e depois virara para sul, não para norte. Visualizou o rubi que descobrira na costa de Marrocos onde, segundo os registos geológicos, não existiam vulcões. A localização do rubi era consistente com o percurso labiríntico entre as placas tectónicas.
Este último pormenor ainda lhe fazia confusão.
De uma coisa estava certa. Durante a primeira viagem pelo Mediterrâneo, quando procurava o Tártaro, Hunayn visitara a Ibéria. Quem sabe até se não encontrara a próspera cidade de Tartesso? Como é que ele não havia de a procurar? Sobretudo quando a história apontava nessa direção. E, se a encontrou, talvez tenha descoberto qualquer coisa sobre o Tártaro que o direcionou para o reino dos feácios, ou lá como se chamava aquele povo avançado. Ela tinha um bom palpite acerca do que essa descoberta podia ser. Ao que tudo indicava, Tartesso era realmente um centro de produção de bronze. Seria também um dos fornecedores desse metal para as construções mecânicas dos feácios? E poderiam os feácios pagar esse bronze com tecnologia e conhecimentos? Seria por isso que a cidade de Tartesso chegara a ser comparada com a Atlântida em termos de desenvolvimento?
Quanto mais se interrogava, mais a sua mente girava em roda livre, impedindo que se concentrasse na mentira que precisava de construir, camada por camada, misturando a ficção e a realidade a ponto de estas se tornarem indistinguíveis.
Se não for capaz de lhes dar o que querem...
Visualizou o corpo do rabino Fine a tombar no chão, o sangue derramado. Desviou o olhar para monsenhor Roe. Era como se conseguisse ouvir as palavras do pai: a próxima morte não será tão misericordiosa.
Sabendo isso, virou costas à janela e regressou à secretária. As respostas que procurava encontravam-se naqueles livros.
Roe juntou-se a ela, suspirando.
— Se não descobrir nada de novo, os nossos captores não vão aceitar o falhanço de bom grado. Sobretudo depois de passarem dias a procurar na costa espanhola.
— Bem podem procurar — respondeu ela num tom azedo.
Roe lançou-lhe um olhar interrogativo.
— Como assim?
— Não ligue, estou apenas irritada.
O monsenhor anuiu e pousou as mãos nas ancas.
— Bom, por onde começamos? Alguma ideia?
— Nenhuma.
E bem preciso.
11h31
O quadragésimo oitavo Musa sabia apreciar os privilégios que lhe eram concedidos Não só pelo cargo de embaixador, mas pela posição elevada entre os Apocalypti. Terminara o pequeno-almoço, que incluíra tostas com caviar Beluga e ovos com raspas de trufas negras. Uma refeição digna de um rei que lhe fora servida em pratos e talheres banhados a ouro e prata.
Ao longo dos anos, usara o seu papel oficial no governo turco para acumular uma fortuna à conta do próprio país, das estruturas militares e de todos aqueles que negociavam com os Estados Unidos. Nos Apocalypti, cujos cofres praticamente não tinham fundo, desviara uma considerável maquia em seu proveito, formando ao mesmo tempo um exército pessoal para defender a causa.
Ele sabia que o homem sentado à sua frente fizera o mesmo. O senador Cargill tinha aspirações próprias. Havia muito dinheiro dos Apocalypti nas suas campanhas políticas, devidamente justificado aos olhos da lei, bem entendido. Não tinha nada contra as ambições de Cargill, tão-pouco guardava ressentimentos em relação à fortuna indevida que o homem acumulara. Na verdade, se o outro chegasse à Casa Branca, isso apenas fortaleceria a sua posição enquanto embaixador e os interesses do grupo.
Cargill acabou de beber o seu copo de Syrah e consultou o relógio Patek Philippe de ouro.
— Tenho de voltar para o centro de comunicações. O intervalo da cimeira deve estar a terminar. Ao meio-dia, vou participar num painel acerca do desenvolvimento económico dos antigos países do bloco soviético.
Firat levantou-se e acenou na direção das portas da suíte, que ocupava todo o último piso do navio.
— Compreendo.
— Quanto às nossas buscas na costa espanhola, talvez não consiga ficar mais do que um dia. Em algum momento, terei de regressar a Hamburgo para reuniões presenciais. — O senador encolheu os ombros. — Em todo o caso, creio que fiz o suficiente para motivar a Elena.
Firat acenou com a cabeça.
— E nós temos as ferramentas para a manter assim.
— Não preciso de repetir que ninguém lhe tocará com um dedo, pois não? — Os olhos de Cargill brilharam com uma ameaça velada. — Fiz-me entender?
Firat anuiu novamente.
— Claro.
Por dentro, Firat fumegava. Para se acalmar, imaginou as torturas que tencionava infligir à filha do senador. A derradeira seria deixá-la uma noite com Kadir. Mas, primeiro, espremeria o que pudesse dela. Depois de ter o que queria, depois das torturas, lançaria o corpo borda fora e o mar apagaria o crime. Diria então que ela se tinha suicidado.
No fim de contas, o que é que aquele kuffar podia fazer?
Os dois fitaram-se uns segundos, como se cada um conhecesse o coração do outro.
O impasse foi interrompido por alguém a bater à porta. Firat fez sinal ao criado pessoal, que atravessou a divisão e foi abrir a porta. Nehir entrou. Não vinha sozinha.
O recém-chegado avançou com o rosto vermelho de raiva.
O que está ele a fazer aqui? O que terá acontecido?
Antes que Firat pudesse perguntar, o homem disparou:
— Ela está a mentir! Enganou-nos desde o início!
12h18
Elena sabia que alguma coisa estava errada.
Vinte minutos antes, Kadir irrompera pela biblioteca e arrastara o monsenhor para parte incerta. Os dois ainda não tinham regressado. Agora tinha sido a vez de Nehir aparecer. A mulher encontrava-se no outro lado do vidro e fitava-a com um sorriso maquiavélico. Enquanto a porta da biblioteca era destrancada, o navio oscilou. Elena deu dois ou três passos na direção da proa, só para se manter de pé.
Oh, não.
Desviou o olhar na direção das janelas. O Estrela da Manhã continuava a abrandar, descendo rapidamente à medida que recolhia os flutuadores.
Porque é que parámos?
Elena podia fazer a pergunta, mas sabia a resposta.
Nehir entrou.
— Vem comigo.
Sabendo que não tinha escolha, Elena fitou os guardas armados que acompanhavam Nehir. Pousou os óculos de leitura na secretária e encaminhou-se para a saída com as pernas a tremer e a boca seca.
Nehir conduziu-a pela escadaria principal, em direção aos pisos inferiores do navio. Ao chegar lá abaixo, mal conseguia respirar. Era como se tivesse duas bandas de metal a comprimir-lhe o peito. Passaram por alguns Filhos e Filhas, mas nenhum ergueu os olhos do chão.
Alcançaram finalmente uma porta de metal meio aberta. Nehir abriu-a na totalidade e acenou-lhe para que entrasse primeiro. Elena queria virar costas e fugir dali. Sentiu o cheiro do carvão em brasa, mas os canos das armas dos guardas empurraram-na para dentro da divisão que, à falta de melhor descrição, parecia retirada de um dos níveis do Inferno.
As paredes eram de aço negro, bem como o chão, onde havia múltiplos escoadores para facilitar a limpeza. Algumas dezenas de lâminas — umas pequenas o suficiente para dissecar uma rã, outras capazes de amputar um braço ou uma perna — encontravam-se dispostas numa das paredes laterais. A outra parede exibia uma coleção de chicotes, correntes e outros instrumentos, cujos usos ela tinha até medo de imaginar.
Na ponta mais afastada, a boca de uma fornalha rugia com chamas e brasas incandescentes. O calor era insuportável. Uns metros à frente das chamas, encontrava-se um enorme X de metal, inclinado ligeiramente na direção da fornalha.
Monsenhor Roe pendia naquela espécie de cruz, com os pulsos e os tornozelos presos com correias de couro. Alguém o amordaçara e o despira da cintura para cima, expondo o peito magro coberto de suor. O sacerdote lançou-lhe um olhar aterrorizado, mas também piedoso, como se fosse ela própria quem iria sofrer mais com o que aconteceria a seguir.
Kadir estava curvado atrás da cruz, a atiçar as brasas com um ferrete comprido. O pai e o embaixador Firat aguardavam de ambos os lados do X.
Elena sabia porque é que estava ali, o que os dois queriam dela e o que se preparavam para fazer ao reverendo Roe.
— Não faças isto, pai. Peço-te.
O pai lançou-lhe um olhar que era a um tempo triste e determinado.
— Tu é que me obrigas, minha querida. Tu sabes isso. Fomos informados de que não tens sido sincera connosco.
Elena engoliu em seco, sem saber o que responder.
— Co... como assim?
Firat praguejou em árabe e fez sinal a Kadir. O gigante virou-se com o ferrete nas mãos, a ponta em brasa. Contornou a cruz de metal.
— Pai... — implorou Elena. — Não...
O pai virou-lhe as costas.
Kadir não hesitou. Com uma frieza mecânica, pressionou a ponta do ferrete contra o mamilo direito do sacerdote. Roe arqueou as costas e gritou através da mordaça, com a carne a silvar e a fumegar.
— Parem! — gritou Elena. — Por favor!
Kadir levantou a ponta do ferrete com a pele do padre agarrada. Roe deixou cair o corpo e a cabeça, os braços inertes suspensos das correias de couro. As lágrimas deslizaram pelo rosto, o sangue pela barriga.
— Eu menti — admitiu Elena, soluçando.
Sentia-se oca, vazia. Demasiado assustada e culpada para inventar desculpas elaboradas. Não se atrevia sequer a tentar.
Firat aproximou-se.
— Para onde foi Hunayn? Qual é a verdadeira localização do Tártaro? Diz-nos! — O embaixador apontou na direção do padre. — Ou a seguir será o olho esquerdo e depois a língua!
Roe ergueu o queixo, respirando com dificuldade. Mesmo assim, encontrou forças para fitar Elena e abanar a cabeça, pedindo-lhe que não cedesse.
Elena ignorou-o e fez o que lhe era exigido. Soluçando, contou tudo o que havia a contar: como ativara o mapa, o que o rio flamejante revelara, o rubi isolado que descobrira na costa de Marrocos.
Quando terminou, encontrava-se de joelhos, o rosto lavado em lágrimas.
Firat virou-se para Nehir.
— Prepara o helicóptero. Vou chamar outro para levares uma equipa de assalto completa. Precisas de encontrar esse lugar e assegurar-te de que só nós temos acesso. Iremos ao teu encontro no Estrela da Manhã. Na pior das hipóteses, estaremos lá de madrugada.
Elena quase não ouviu o que o embaixador disse. Os guardas libertaram o monsenhor e retiraram-lhe a mordaça. O padre mal se aguentava de pé. Elena levantou-se e cambaleou ao encontro dele para o ajudar.
— Lamento — gemeu ela. — Não fui capaz...
Ainda a ofegar, o monsenhor ergueu a cabeça e virou-se para Firat.
— Bem vos disse que ela estava a mentir.
QUINTA PARTE
OS PORTÕES DO TÁRTARO
Então ordenou ao ilustre Hefesto que o mais rápido possível misturasse
terra com água e ali infundisse fala e força humanas, e que moldasse, de face
semelhante à das deusas imortais, uma forma bela e amável de donzela...
E chamou a essa mulher Pandora, porque todos os que têm moradas
olímpias deram essa dádiva, desgraça para os homens que vivem de pão.
— EM OS TRABALHOS E OS DIAS DE HESÍODO (700 A.C.)
31
26 de junho, 15h33
Montanhas do Alto Atlas, Marrocos
A cidade perdida deve estar algures por aqui.
Na cabina do barco, Gray estudou os dados de satélite no tablet. Nas últimas três horas, a equipa explorara quatro locais ao longo do afluente, cavernas que o georradar detetara. No entanto, todas se haviam revelado becos sem saída. Literalmente. Eram apenas grutas que terminavam em poucos passos.
As dúvidas começavam a instalar-se.
Gray tentou lutar contra elas, confiando no seu instinto.
Protegeu os olhos contra o sol e estudou a paisagem.
O ruído do motor ressoava nos penhascos de calcário. As paredes rochosas erguiam-se de ambos os lados em camadas estratificadas com múltiplos tons de vermelho, roxo e branco, encimadas com protuberâncias, reentrâncias e picos irregulares.
Na base e de ambos os lados, uma densa floresta de cedros e carvalhos-das-canárias estendia-se das margens até às paredes rochosas. À medida que o canal corria mais alto pela montanha, também o curso se tornava mais sinuoso e entrecortado a espaços por quedas-d’água. A cor do rio deixara de ser verde como a do Suz, mas azul pelo efeito da neve derretida e pelo caudal de outros riachos alimentados por nascentes.
Charlie continuava a manobrar com destreza pelo canal, cada vez mais estreito, o que lhe exigia mais concentração. Pouco ou nada dizia, e o macaco Aggie também sossegara. Volta e meia, ouviam-se os gritos de outros macacos ocultos na vegetação, os parentes selvagens do pequenote. As orelhas de Aggie levantavam-se e ele agarrava-se com mais força a Charlie.
Um troar repetitivo e ritmado cortou o silêncio. Era profundo o suficiente para ser sentido no peito. Um helicóptero sobrevoou o desfiladeiro, em direção a norte. Gray observou-o. Era o terceiro que via passar.
— Há um local muito turístico no outro lado das montanhas — explicou Charlie. — O Vale do Paraíso. É muito bonito, ou costumava ser, pelo menos. Infelizmente, à semelhança do que acontece em quase toda a região, está cada vez mais poluído.
Mais à frente, assustada pelo barulho do helicóptero, uma íbis levantou voo dos baixios e desapareceu por cima da copa das árvores.
Charlie acompanhou o voo da ave com o olhar.
— A vida selvagem costumava ser mais abundante — disse num tom triste. — Muitas espécies extinguiram-se. O urso-do-atlas, o elefante-do-norte-de-áfrica, o auroque. Outras encontram-se ameaçadas. — Coçou a pelagem de Aggie com o dedo. — Quando terminar o meu curso, espero poder ajudar a pôr termo a isso. Não é apenas o turismo que tem um forte impacto na região, há cada vez mais empresas mineiras a trabalharem nestas montanhas.
— O que procuram essas empresas? — perguntou Gray, desviando o olhar para os penhascos.
— Há muita riqueza por explorar. Ferro, chumbo, cobre, prata.
Gray interrogou-se acerca do que mais podia haver ali enterrado.
Seichan colocou uma questão pertinente.
— E urânio ou outros elementos radioativos?
A especificidade da pergunta desviou a atenção de Charlie do rio.
— É por isso que estão aqui? — perguntou, franzindo o sobrolho. — São cientistas a soldo de uma empresa mineira? Reparei no dispositivo que tirou da mochila na última paragem. Parecia-me um contador Geiger.
Gray devia saber que dificilmente alguma coisa escaparia ao olhar perspicaz de Charlie. Como parte da preparação para a expedição, ele pedira a Painter outros equipamentos além das armas, nomeadamente o dito contador Geiger.
Ergueu a mão perante o olhar zangado de Charlie.
— Não, garanto-lhe que não trabalhamos para nenhuma empresa mineira. Em todo o caso, porque é que ficou tão aborrecida com a ideia?
— Pardon. Foi apenas uma pergunta. — Charlie concentrou-se novamente no leme. — Uma das maiores exportações do nosso país é o fosfato de cálcio, cuja procura tem aumentado nos últimos anos.
— A que se deve esse aumento? — perguntou Seichan.
— O nosso fosfato é rico em urânio. Calcula-se que três quartos do fosfato de cálcio mundial se encontram nestas montanhas. E diz-se que o urânio contido nesses depósitos é o dobro de todo o que existe no resto do mundo.
Seichan trocou um olhar com Gray.
Gray lembrava-se da teoria de monsenhor Roe acerca do combustível que alimentava as criaturas mecânicas no navio árabe. Roe acreditava que a substância — o Óleo de Medeia, nas palavras de Hunayn — podia ser uma versão mais poderosa do mítico Fogo Grego.
Ninguém podia garantir, claro. A fórmula para o fabrico do Fogo Grego perdera-se na antiguidade, embora houvesse o consenso de que consistia numa combinação volátil de nafta, óxido de cálcio, resina e enxofre. No entanto, outro ingrediente principal era precisamente o fosfato de cálcio.
Gray interrogou-se se, mesmo sem saber, algum alquimista antigo poderia ter melhorado a receita ao utilizar o fosfato marroquino, rico em urânio?
Um raspar forte no casco desviou-lhe a atenção para o rio. Charlie praguejou e rodou o leme para afastar o barco de uma rocha submersa.
— Estamos a atingir a profundidade mínima! — exclamou ela. — Não vos posso levar mais longe.
Gray consultou o tablet.
— Há mais um local que precisamos de verificar. A seguir à próxima curva, a cerca de quatrocentos metros.
Charlie desacelerou.
— Lamento, não posso arriscar o meu barco.
— Nós pagamos quaisquer estragos — prometeu Gray, sabendo que Painter se certificaria de que assim fosse.
Charlie fitou-o uns instantes. Depois acelerou.
— Mais uma paragem.
O barco continuou a avançar rio acima, agora a metade da velocidade. Charlie evitou as zonas de espuma branca, mantendo-se nas secções mais profundas. Mesmo naquelas partes, Gray conseguia distinguir a areia e as rochas no fundo. À medida que avançavam, a profundidade continuou a diminuir. Em vez de abrandar, Charlie acelerou.
Gray olhou para ela.
Charlie manteve-se focada no rio, mas apercebeu-se do olhar dele, questionando-a.
— Quanto mais depressa for, mais o casco se levanta — explicou ela. — São mais uns centímetros que ganho.
E parece que vamos precisar de todos os que conseguirmos, pensou Gray, segurando-se ao corrimão no estibordo da cabina.
Charlie alcançou a curva e contornou-a com destreza. Gray consultou as coordenadas no tablet.
— Ali — disse, apontando para uma mancha de água mais escura à direita, onde outro riacho se juntava ao canal.
— Okay.
Charlie acelerou em direção à margem, o casco raspou por cima de última rocha e deslizou pela piscina mais profunda.
— Bom trabalho — disse Seichan.
Charlie desligou o motor e o barco deslizou suavemente até se imobilizar na areia da margem. Virou-se para Gray.
— Última paragem, oui?
Gray desviou o olhar para o canal principal. A partir daquele ponto, a espuma branca estendia-se de uma margem à outra.
— Acho que avançámos o máximo que podíamos.
Concentrou a atenção no novo afluente. A água límpida fluía sobre seixos pretos e secções de areia branca, serpenteando pela orla de uma floresta de cedros. Mais acima, uma enorme queda-d’água erguia-se a uma altura de dez andares.
Protegeu os olhos contra o sol e estudou os matizes vermelhos e acobreados nas paredes de ambos os lados da cascata, tentando ler aquelas páginas de rocha estratificada.
— Estamos no lugar certo? — perguntou Seichan.
— Segundo os dados do radar, existe uma caverna mais à frente, mas não sei se conduz a algum lado. Passados uns trinta metros, a espessura da montanha é demasiada para se conseguir uma leitura adequada.
— Significa que temos de ver com os nossos olhos — disse Seichan.
Gray anuiu.
— Vamos buscar as mochilas. Não vale a pena ficarmos aqui a adivinhar.
Sem perder tempo, Gray deixou Charlie e o macaco no barco e conduziu os outros pelo riacho acima. O ruído da queda-d’água tornou-se mais forte. Uma leve neblina pairava no ar da floresta. Quando alcançaram a base do penhasco, a roupa e os equipamentos cintilavam com gotículas de água.
Para lá de uma faixa arenosa, a cascata, uma cortina de água com cerca de quatro metros, caía numa lagoa cor de cobalto que alimentava o riacho. A luz do Sol produzira um arco-íris sobre a superfície. O ar parecia mais limpo junto à lagoa, mais fresco. Um punhado de palmeiras inclinava-se na direção do chuvisco.
— Lindíssimo — comentou Maria, fitando a lagoa e toda a extensão da cascata.
— Não me importava de dar umas braçadas — admitiu Kowalski. — Livrar-me deste pó.
— Não viemos aqui para isso — disse Gray, verificando o tablet. — De acordo com os dados do radar, a caverna encontra-se perto, mas não vejo nenhuma entrada.
O padre Bailey apontou para a cortina de água.
— Atrás da cascata, talvez? É impressão minha ou aquilo parece a entrada de uma caverna?
Gray também reparou.
— Vamos ver melhor.
O grupo contornou a lagoa e passou por baixo da cascata. A água gelada encharcou Gray até aos ossos. Apressou-se a atravessar e deu consigo na entrada escorregadia de uma caverna.
Atrás dele, Kowalski sacudiu-se como um cão molhado.
— Que gelo!
Reuniram-se todos na caverna iluminada pela luz filtrada através da cascata. Gray avançou sozinho e olhou em volta. O espaço era alto, mas pouco profundo.
Outro beco sem saída.
Virou-se para Mac.
— Alguma coisa?
O climatologista ergueu o contador Geiger.
— Alguns vestígios de radiação, mas os valores não são diferentes das outras quatro cavernas.
— Não há nada aqui — disse Seichan.
Maria aproximou-se.
— E se tentássemos mais acima? O barco não pode avançar mais, mas não podemos continuar a pé?
Gray abanou a cabeça.
— Não saberíamos onde procurar. O radar não apanhou nada de relevante mais à frente. Além disso, a partir daqui, o terreno é muito mais compacto e íngreme.
O padre Bailey suspirou, frustrado.
— Nesse caso, temos de voltar ao Suz e procurar nos afluentes a leste e a oeste deste. Calculo que o rubi no mapa não tenha sido colocado com uma precisão milimétrica. Deve assinalar uma posição aproximada, nada mais do que isso.
Kowalski encolheu os ombros.
— Alguém acertou no nome do rio, pelo menos. Rio do Infortúnio. Porque não há dúvida de que começo a sentir pena de mim próprio.
Gray não podia discordar e limitou-se a acenar na direção da cascata.
— Vamos regressar.
16h04
Enquanto os outros desciam o ribeiro, Mac fez um compasso de espera junto à lagoa, aproveitando uma poça de luz para aquecer o corpo molhado. Semicerrou os olhos e observou a parede rochosa.
Enquanto climatologista, estava a habituado a estudar paisagens, rochas e florestas para melhor compreender até que ponto as condições de um terreno podiam ser modificadas por alterações climáticas. O fim ou o início de uma era glacial, por exemplo, deixavam marcas que um olhar treinado sabia interpretar.
Maria apercebeu-se de que ele ficara para trás e recuou ao seu encontro.
— O que se passa?
Mac apontou para o cimo da cascata.
— Ali, onde o rebordo da rocha se encontra desgastado pela ação da água? Toda aquela secção é bastante mais larga do que a própria cascata.
— Sim, é consistente com o que a Charlie disse. Noutros tempos, o Suz era mais uma baía do que um rio, e os afluentes eram muito mais poderosos.
Mac recuou uns passos, arrastando Maria consigo.
— Olha para ali — disse, apontando para o cimo do penhasco e traçando uma linha em direção a norte. — Segue o rebordo. O que vês?
Por aquela altura, os outros também tinham voltado para trás.
— O que estão a ver? — perguntou Gray.
Maria compreendeu finalmente.
— Existem outros rebordos iguais ao longo da parede.
Mac anuiu.
— Esta cascata não só era maior, como havia outras que secaram. Quatro, pelo menos.
Mac imaginou como seria aquele lugar com cinco poderosas quedas-d’água a fluírem para uma imensa baía. A região inteira devia cintilar com múltiplos arco-íris. Os penhascos envoltos em neblina estariam provavelmente cobertos de vegetação e cheios de ninhos de pássaros. As florestas deviam ser mais altas, acolhendo manadas de elefantes e famílias de leões.
O padre Bailey interrompeu os seus devaneios.
— Cinco rios... — murmurou.
Mac olhou para o sacerdote.
— Cinco rios?
Bailey virou-se para onde Charlie aguardava com o barco.
— A Charlie disse que este afluente se chama Assif Azbar, o Rio do Infortúnio, mas existe outro rio com um nome parecido. Não lhe dei muita importância, visto que o nome podia ser apenas uma liberdade poética por causa das histórias dos hipotéticos desaparecimentos que aqui ocorreram. No entanto, agora que sei que havia outros quatro rios neste local, isso faz-me pensar.
— Pensar no quê? — perguntou Gray.
— O rio que em tempos era conhecido pelo mesmo nome era o mítico Aqueronte, o rio do infortúnio, dor e pesar. — Bailey virou-se para o grupo. — Era um dos cinco rios que atravessavam o Tártaro e conduziam ao coração de Hades. Os restantes eram o Lete, o Flegetonte, o Cócito e o Estige.
Gray respirou fundo, deu um passo em frente e fitou o cimo do penhasco.
— Esteja certo ou errado, padre, o olhar treinado do Mac deu-nos quatro novas possibilidades. E se antes havia aqui cinco cascatas, acho que sei onde colocaria a entrada para a minha cidade subterrânea.
Gray apontou para o rebordo ao centro.
— Parece ser o mais largo e também o mais cavado — disse Seichan.
Mac imaginou uma enorme cascata flanqueada por outras duas.
Gray deu-lhe uma palmada no ombro bom.
— É para ali que temos de ir.
32
26 de junho, 16h42 WEST
Marraquexe, Marrocos
Na parte de trás da cabina do helicóptero, Elena viu a cidade de Marraquexe desaparecer à medida que o aparelho se afastava depois de uma paragem para reabastecimento. Conseguia avistar os picos cobertos de neve a sessenta quilómetros para sul. Tratava-se do monte Toubkal, a montanha mais alta da cordilheira do Atlas, com mais de quatro mil metros de altitude.
O helicóptero, um Eurocopter EC155, desviou para um dos lados do majestoso pico, seguido de perto por outro aparelho idêntico. Ambos prosseguiram em direção a sudoeste, mais concretamente para onde as mesmas montanhas encontravam o oceano Atlântico.
Mais uma hora, no máximo. Talvez menos.
Era quanto tempo Elena tinha para congeminar um plano.
Recostou-se no assento. Partilhava a cabina com uma dezena de passageiros, a maioria Filhos e Filhas de Musa, incluindo Nehir e Kadir, sentados frente a frente junto à janela oposta. O lugar em frente de Elena encontrava-se ocupado por monsenhor Roe, que sabia agora ser um traidor. O sacerdote viajava seguro pelos cintos, completamente anestesiado. Quando embarcara, as pupilas estavam enormes, sugerindo que lhe fora administrada uma elevada dose de morfina. O chumaço por baixo da camisola era do penso que tinham posto na queimadura.
Elena estava ali porque não tinha escolha, porém, pela conversa que o monsenhor tivera com o embaixador antes de embarcar, o traidor insistira em fazer aquela viagem. Ele queria ver até onde a sua traição o levaria, acreditando que ainda podia ajudar a localizar o lugar assinalado pelo rubi.
O pai fora a única pessoa que Elena não avistara antes de levantar voo. Não houvera despedida. Teria sido a vergonha que o mantivera fora de vista ou simplesmente as obrigações profissionais? Interrogou-se se voltaria a vê-lo. A ideia foi o suficiente para sentir um nó no estômago. Ainda lhe custava conciliar a imagem do homem que conhecera durante trinta anos com aquele que se revelara nos dois dias anteriores. Era difícil apagar o passado.
E talvez nos encontremos de novo.
Imaginou o Estrela da Manhã a caminho da costa de Marrocos, a voar sobre as águas a toda a velocidade com a ajuda dos dois flutuadores. Sabia que nem Firat nem o pai perderiam a oportunidade de estar por perto, caso se confirmasse alguma descoberta nas montanhas.
O helicóptero atravessou um poço de ar e a cabina abanou o suficiente para despertar monsenhor Roe. O padre pestanejou e endireitou-se.
— Não fiques tão perturbada, minha filha — disse, arrastando a voz. — Vais ajudar-nos a trazer o Cordeiro de volta a este mundo abominável. A destruição dos portões do Tártaro assinalará o início do Armagedão. As armas infernais e o fogo radioativo serão libertados em pontos estratégicos do mundo, destabilizando região atrás de região, iniciando guerras atrás de guerras, até que os próprios oceanos estejam a arder. Só então o mundo será expurgado da maldade, purificando o trono do Senhor para o Seu regresso. Com a Sua chegada, a verdadeira e duradoura paz cairá por fim sobre nós.
Elena franziu o sobrolho.
— Diga isso aos que morreram em Castel Gandolfo, ao rabino Fine.
Roe acenou com a mão rejeitando a sua preocupação.
— Mártires, todos eles. O Howard sabia o que estava a fazer, conhecia a importância do sacrifício. Deu um tiro na própria orelha, tanto para convencer os americanos de que tínhamos sido raptados, como para obter a tua amizade.
Elena inclinou a cabeça para trás, subitamente tonta. Até o rabino Fine. Sabia que os dois sacerdotes eram colegas de faculdade, mas nunca suspeitara de que o rabino também estava metido naquilo. Em todo o caso, devia ter suspeitado. Lembrava-se das palavras do pai. Os Apocalypti tinham membros de todas as religiões e credos, incluindo ateus.
Roe prosseguiu.
— O teu pai precipitou-se e deixou-se levar pela fúria. Foi por isso que matou o Howard. Contudo, foi um bom exemplo da nossa determinação.
Sem saber o que pensar de tamanha frieza, Elena virou-se na direção da janela. Tinha sido uma idiota. Na biblioteca, o cansaço fizera-a cometer aquele deslize. Quando o padre a pressionara acerca da busca na costa espanhola, respondera com aquele comentário estúpido. Tinha sido o suficiente para revelar que a cidade de Tartesso era um engodo. Logo a seguir, Roe pedira autorização para usar a casa de banho. Era um homem velho, no fim de contas. Ela não tinha nenhum motivo para suspeitar dele. Passados quinze minutos, Kadir viera buscá-lo.
E não fui capaz de juntar os pontos.
— Mas o Howard não era o único que compreendia a importância do sacrifício — observou o monsenhor, desviando o olhar para o peito. — A tua teimosia impediu que aprendesses a lição que o teu pai tentou ensinar-te com a morte do Howard. Continuaste a mentir, e fui eu que tive de suportar a dor da tua falsidade.
Os olhos do padre encontraram novamente os dela, mas desta vez havia um fogo que transparecia por entre a névoa da morfina.
— Os sacrifícios são necessários. Sei isso melhor que ninguém. Fui eu que convenci os americanos a levarem a Chave de Dédalo para Castel Gandolfo, para ver se nos ajudava. Quando se comprovou o contrário e vi que os americanos nada tinham a acrescentar, fui eu que pedi o ataque aéreo. Sobre a minha própria cabeça.
Elena reparou no fervor crescente na voz do monsenhor, no acumular de saliva ao canto dos lábios. O brilho no olhar era o fulgor de um fanático. A morfina libertara a essência daquele homem, tornando-o mais comunicativo e desprovido de filtros.
— Quando os americanos conseguiram escapar das galerias subterrâneas do palácio, a minha esperança neles renasceu momentaneamente. Como precisava de os retirar do cordão de segurança em volta de Castel Gandolfo, levei-os para a Sardenha, ao encontro do meu amigo e aliado Howard. Queria testá-los mais uma vez, partilhando o que sabíamos, tentando perceber se avançavam com alguma teoria nova, mas não foi o que aconteceu.
— E tentou eliminá-los e apropriar-se do mapa de Da Vinci.
— E da Chave de Dédalo original, claro.
— Quando isso não resultou, veio para o iate do Firat, para tentar o mesmo esquema comigo.
— Sim, mas tu provaste ser muito mais esperta. — O fanatismo que ardia no olhar do padre intensificou-se. — Acredita. Em breve, todos os meus sacrifícios serão recompensados. Quando o Senhor regressar, a minha dor será a minha medalha.
Elena virou o rosto àquelas chamas doentias. Calculava que o monsenhor fazia parte do grupo há bastante mais tempo do que o pai ou o embaixador Firat, e estes eram homens que acreditavam ser o profeta Mádi regressado ou o rei David renascido. Ainda assim, parecia-lhe que a loucura dos dois não se equiparava à devoção doentia do padre sentado à sua frente.
E apontei-lhes o caminho para um arsenal de armas míticas e uma fonte de poder desconhecida que, nas mãos erradas, será capaz de desencadear uma guerra de proporções bíblicas.
Restava-lhe uma esperança.
Rezou para que Joe e os outros tivessem conseguido usar as agulhas de bronze para desbloquear o mapa, que por algum milagre se encontrassem já no terreno.
Estou a contar contigo, Joe.
33
26 de junho, 17h02 WEST
Montanhas do Alto Atlas, Marrocos
— Aqui! — gritou Kowalski.
Os outros, que se haviam espalhado pela base do penhasco, correram ao encontro dele.
Com as mãos nas ancas, Kowalski observava a parede rochosa. As camadas estratificadas pareciam jornais empilhados, alguns mal alinhados, uns amachucados, outros rasgados. A equipa tinha já examinado o primeiro rebordo seco a seguir à queda-d’água e passara ao seguinte, o central e o maior dos cinco, com cerca de dez metros de largura, o que dava uma ideia do tamanho do rio que ali correra em tempos.
— O que encontraste? — perguntou Gray.
Kowalski apontou para uns cinco metros acima.
— Repara no amontoado de rochas naquele parapeito partido. Mais à esquerda, parece haver uma fenda na parede.
Gray semicerrou os olhos.
Seichan fez o mesmo.
— Ele tem razão. Vou verificar.
Antes que alguém dissesse alguma coisa em contrário, Seichan começou a escalar a parede. A secção por baixo do parapeito era bastante irregular, criando uma série de degraus gigantes que formavam uma espécie de escadaria até à fenda.
— Acho que conseguia fazer isso tão bem como tu — comentou Kowalski.
Seichan concluiu a subida e desapareceu no interior da fenda. Sem conseguir estar quieto, Gray começou a andar para a frente e para trás.
Mac olhou para cima.
— Se no passado o vale se encontrava inundado, é provável que o nível da água chegasse àquele parapeito. Reparem na diferença de cor nas camadas de rocha abaixo e acima do parapeito. Em baixo a parede é mais esbranquiçada e parece até mais lisa, um efeito natural da erosão causada pela água.
Kowalski tentou imaginar um barco a navegar por cima da sua cabeça e a acostar junto ao parapeito.
O tipo é capaz de ter razão.
Seichan pôs a cabeça de fora da fenda e desfez as esperanças de todos.
— Mais um beco sem saída!
Gray praguejou entredentes.
Seichan acenou-lhes.
— Mas acho que deviam subir e ver isto.
— O que encontraste? — gritou Gray.
— É melhor verem com os vossos olhos.
Seichan virou costas e voltou para dentro.
Gray olhou para os companheiros.
Kowalski encolheu os ombros.
— Não me importo de sair do sol durante uns minutos.
Com o assunto resolvido, todos se apressaram a subir a parede. Lá em cima, o parapeito era bastante maior do que parecia, com cerca de vinte metros de largura. O amontoado de rochas preenchia-o quase na totalidade, porventura a consequência de uma derrocada. Diretamente por cima, faltava uma boa porção do rebordo da parede.
Gray conduziu a equipa até à ponta do parapeito. A fenda de Kowalski era na verdade o espaço disponível entre a rocha amontoada e a parede calcária do penhasco. Um pedregulho maior ficara entalado naquele espaço, impedindo a estreita abertura de se fechar.
Gray foi o primeiro a entrar. Kowalski seguiu-o, curvando-se por baixo do pedregulho e sustendo a respiração. Lá dentro, deslocou-se rapidamente para uma enorme caverna, cuja largura era idêntica à do parapeito e o dobro em profundidade. Seichan segurava a lanterna acesa e apontava a luz ao arco do teto e à curvatura das paredes de rocha castanho-escura que formavam aquela bolsa.
Os outros juntaram-se atrás de Kowalski.
O padre Bailey olhou por cima do ombro na direção do pedregulho entalado.
— Parece que acabei de passar por baixo da espada de Dâmocles.
Mac riu-se.
— A rocha amontoada numa derrocada é perigosa, mas calculo que esta pilha esteja assim há séculos. Não creio que vá desmoronar a qualquer instante.
Gray virou-se para Seichan.
— O que querias que víssemos? — perguntou, desanimado por se encontrar diante de mais um beco sem saída.
— Aqui ao fundo — disse ela.
Seichan avançou para a parte de trás da caverna. No lado esquerdo, encontrava-se uma fila de vasilhas de barro, cada uma com pouco mais de um metro de altura e pequenas tampas empoeiradas.
— Há ali mais — disse ela, apontando a lanterna para o lado direito e revelando um segundo conjunto de vasilhas.
Mac aproximou-se com uma expressão sombria.
— Parecem versões pequenas das vasilhas que encontrámos no navio árabe.
— São ânforas — explicou Bailey. — Os gregos e os romanos usavam-nas para guardar vinho, azeite...
— Ou outra coisa pior — disse Mac, endireitando-se.
O padre virou-se para Kowalski.
— Disse-nos que o comandante Hunayn lhes chamava «Potes de Pandora»?
— Foi o que a Elena leu no diário.
Bailey olhou para os outros.
— Segundo o mito, Pandora não era uma mulher de carne e osso, mas uma criação mecânica do deus Hefesto.
— Como as outras escravas de bronze que ele tinha — comentou Kowalski, lembrando-se das palavras de Elena acerca das aias mecânicas que serviam Hefesto.
— Os deuses do Olimpo colocaram maldições em potes — explicou Bailey. — E entregaram-nos a Pandora para que ela os oferecesse à humanidade. Uma espécie de Cavalo de Troia cheio de morte, doença e miséria.
— É uma boa descrição do material que se encontrava a bordo do navio — observou Mac.
Maria franziu o sobrolho.
— Sempre ouvi falar na caixa de Pandora, nunca em potes.
— Certo, mas isso deve-se a um eterno erro de tradução — explicou o padre. — A palavra grega original era pithos, um pote. Porém, no século dezasseis, a palavra foi substituída por pyxis, que significa «caixa», e o erro nunca mais foi corrigido.
— Pote ou caixa — disse Kowalski —, parece que estamos no lugar certo ou muito perto.
— Possivelmente — admitiu Gray. — Mas só há uma maneira de termos a certeza.
— Não está a pensar abrir uma dessas malditas coisas, pois não? — perguntou Mac.
Gray avançou.
— É a única maneira.
Mac tentou impedi-lo.
— Não...
Gray contornou-o e deu um pontapé numa ânfora, atingindo-a com a base do pé. Apesar de ser um homem atlético, o forte impacto não produziu mais do que uma pequena racha no barro.
— Talvez seja melhor dar ouvidos ao nosso amigo Mac — disse Bailey.
Gray ignorou ambos e tentou de novo, desferindo outro pontapé no mesmo sítio. A ânfora partiu-se em duas metades. Um óleo negro espalhou-se pelo chão. Todos recuaram, como se fugissem de um ninho de serpentes.
Um forte cheiro a petróleo encheu a caverna.
— É o mesmo óleo das vasilhas na Gronelândia — avisou Mac.
— Mas também é a única coisa que aqui está — disse Seichan, a única que se aproximou para espreitar.
Kowalski seguiu-lhe o exemplo.
— Ela tem razão. Não vejo caranguejos de bronze nem nenhuma mistela inflamável.
O grupo virou-se para o segundo conjunto de ânforas. Houve algumas trocas de olhares e encaminharam-se todos nessa direção.
O padre Bailey foi o único que se deteve a meio caminho e pôs-se a examinar uma laje no centro da caverna, com cerca de sessenta centímetros de altura. Passou a mão sobre a secção côncava no centro.
— Parece um altar sacrificial — murmurou.
Kowalski passou por ele de bom grado.
Ninguém falou ao aproximar-se dos outros potes.
O contador Geiger de Mac começou a emitir uma sucessão de estalidos.
Kowalski agarrou no braço de Gray.
— Talvez seja melhor não partirmos estes.
17h24
Nem sempre a força bruta é a melhor escolha.
Seichan passou a ponta aquecida da faca ao longo do rebordo da ânfora, derretendo o selo de cera ao redor da tampa. Raspou os pedaços soltos e depois estendeu a faca na direção de Maria.
Maria acendeu o isqueiro e Seichan segurou a lâmina por cima da chama, aquecendo-a novamente.
— Homens — comentou Maria. — Só estão bem a partir coisas. Espero que cries o Jack para que cresça com um pouco mais de bom senso.
— Vou fazer o meu melhor — disse Seichan, desejando que assim fosse. — Mas metade do ADN dele é do Gray. Por isso, nunca se sabe.
Seichan concentrou-se outra vez na tarefa e continuou a retirar a cera.
Atrás dela, aborrecidos pelo esforço meticuloso e demasiados nervosos para estarem parados sem fazer nada, os homens juntaram-se ao padre Bailey, que continuava de volta da laje.
— O que acha que é? — perguntou Gray, apoiado sobre um joelho.
— Pensei que podia ser uma espécie de altar sacrificial — respondeu Bailey. — No entanto, vendo bem as coisas...
— Quais coisas?
Enquanto Seichan derretia a camada mais espessa da cera, a tampa soltou-se finalmente.
Virou-se para trás.
— Consegui.
Gray foi ao encontro dela, arrastando os outros consigo. Fez sinal para Mac avançar.
— É seguro?
O climatologista consultou o contador Geiger.
— O nível de radiação permanece estável, mas não convém ficarmos aqui mais tempo do que o necessário.
Gray fez sinal a Seichan.
— Quando quiseres.
Ela agarrou na tampa com as duas mãos, deu-lhe um abanão para soltar os restos de cera e levantou-a.
Ouviu-se um coro de murmúrios de espanto. O contador Geiger começou a crepitar com mais intensidade.
Todos se afastaram do óleo esverdeado que enchia a ânfora e projetava um brilho fantasmagórico. Seichan agachou-se, pronta para lidar com qualquer criatura que pudesse emergir daquela sopa tóxica. Porém, passados uns segundos, tornou-se evidente que não havia ali nada.
— Acho que é só óleo — disse Gray. — Como nas ânforas daquele lado.
Bailey avançou uns centímetros.
— Segundo o diário de Hunayn, na primeira viagem ao Tártaro, a sua tripulação não se aventurou para lá dos limites da cidade por causa da falta de equipamento. Mas levou alguns potes que estavam na entrada e que continham aquilo a que ele chamava Óleo de Medeia.
Hum...
Seichan afastou-se do grupo.
— Talvez seja melhor não deixarmos o óleo exposto ao ar — avisou Bailey. — Hunayn chamava-lhe Óleo de Medeia por uma razão. De acordo com a mitologia, o óleo da feiticeira continha o segredo para um fogo indomável, um presente do titã Prometeu, que a ensinou a conservá-lo em caixas de ouro estanques.
— À semelhança destes potes — disse Gray.
— Um dos quais já não é estanque — lembrou Mac.
Bailey prosseguiu.
— Diz-se que o Óleo de Medeia, à imagem da lenda do Fogo Grego, se incendiava em contacto com a água e não podia ser apagado. — O padre apontou para a ânfora. — O ar aqui dentro não é muito húmido, mas, se deixarmos a ânfora aberta muito tempo, e com tantas outras à nossa volta...
— Bum! — acrescentou Kowalski.
— É bem provável — disse Mac. — Na Gronelândia, os caranguejos incendiaram-se de imediato, mas o ar era muito mais húmido e carregado de cristais de gelo.
— Mais vale fechá-la, por agora — admitiu Gray. — Sempre limitamos o risco de exposição à humidade.
— Espera — avisou Seichan. — Não faças nada.
Ela avançou até ao fundo da caverna e passou a mão pela curvatura da parede castanho-escura. A sua superfície era áspera, mas também demasiado uniforme. Ninguém reparara nesse pormenor. Toda a gente se concentrara nas misteriosas ânforas e no altar.
Seichan ergueu o punhal e desferiu uma pancada na parede com o cabo.
O baque metálico, semelhante a um gongo, anunciou a sua descoberta.
Virou-se para os outros.
— Não estamos numa caverna natural, mas numa câmara de bronze oxidado e escurecido pela passagem do tempo. — Apontou com o punhal na direção das ânforas. — Se foi aqui que Hunayn roubou o óleo, então isto tem de ser a entrada do Tártaro.
Os outros correram na direção dela e examinaram as paredes, confirmando a descoberta.
— Ela tem razão — disse Gray, batendo com os nós dos dedos no bronze. Alguns dos outros fizeram o mesmo. — E não é só esta parede, a caverna inteira é feita de bronze, como uma bolha gigante.
Kowalski fez a pergunta que todos queriam ver respondida.
— Chega de bater à porta do Tártaro. Como é que entramos?
O padre Bailey regressou ao altar.
— Acho que sei — disse. Virou-se para o grupo. — Isto é um teste.
17h30
E um teste cronometrado, pelos vistos.
Gray fitou a ânfora aberta, sabendo que o óleo podia incendiar-se a qualquer momento. Virou-se para Bailey.
— Qual é a ideia?
O padre ajoelhou-se junto ao altar e passou a mão ao longo da depressão no centro.
— A laje é de pedra, mas esta secção côncava é de bronze, tal como as paredes.
— E o que tem isso que ver com conseguirmos abrir uma entrada? — perguntou Seichan.
— Heron de Alexandria — respondeu Bailey, como se fosse suficiente.
Ninguém compreendeu a associação.
— Heron era um engenheiro notável do século um. Inventou todo o tipo de dispositivos, incluindo a primeira máquina de venda automática e um órgão de tubos. Escreveu livros que tenho a certeza de que os irmãos Banu Musa, e quaisquer outros colecionadores de conhecimento científico com um gosto especial por invenções mecânicas, terão lido séculos mais tarde. O próprio Leonardo da Vinci conhecia o trabalho de Heron.
— Certo, mas de que forma isso se aplica à nossa situação? — insistiu Gray, desviando novamente o olhar na direção da ânfora aberta.
E despacha-te a explicar porque não temos o dia todo.
— Uma das invenções de Heron foi um sistema «mágico» para abrir as portas de um templo, que na verdade era uma versão rudimentar de um motor a vapor. A ideia era mais ou menos esta: um sacerdote falava para uma multidão diante das portas fechadas. A seguir, acendia-se uma fornalha. O fogo aquecia água num depósito e o vapor resultante percorria então um sistema de tubos, movendo pistões, roldanas e cordas que abriam as portas.
— Por outras palavras, tratava-se de um truque — constatou Kowalski.
Bailey apontou para a laje e depois para a parede.
— À semelhança do que aqui temos.
— Como pode ter a certeza disso? — perguntou Maria.
— Segundo as palavras de Homero, o palácio dos feácios era feito de bronze, e as portas da cidade, quando abertas, brilhavam como que feitas de ouro.
Gray começou a perceber a ideia.
— Se pusermos o altar a arder com as chamas deste combustível, as paredes de bronze brilharão como se fossem feitas de ouro.
Bailey anuiu.
— É por isso que estou convencido de que isto é um teste. Os feácios deixaram-nos as ferramentas, o combustível. Cabe a nós provar que compreendemos as propriedades do que se encontra nestas ânforas. Só então nos será permitida a entrada.
— O que temos de fazer, então? — perguntou Kowalski. — Despejamos o óleo no altar e adicionamos água?
— Acho que sim — confirmou Bailey.
Gray abanou a cabeça.
— Não, isso é apenas um lado da moeda. — Apontou na direção da ânfora partida e da mancha negra de óleo derramado. — Aquilo é o outro. Caso contrário, o que estão aqui a fazer aquelas ânforas?
— Bem visto — admitiu Bailey. — Só não sabemos que substância é aquela.
A resposta chegou de uma fonte inesperada.
— A Elena tinha uma ideia — disse Kowalski. — Chamou-lhe a farmacopeia do Sangue de Prometeu.
Isso não pode estar certo.
— Não será a pharmaka do Sangue Prometeico? — perguntou Bailey.
Kowalski encolheu os ombros.
— Sei lá eu, porque não?
O padre virou-se para o grupo.
— Na mesma história de Medeia, em que Prometeu lhe ensina a fórmula do óleo flamejante de Prometeu, ela também fica a conhecer a pharmaka, a receita, para uma poção negra chamada Sangue Prometeico. Era produzida com a seiva de uma planta nascida do sangue derramado por Prometeu. Ela ofereceu a poção a Jasão, para o proteger das chamas dos touros de bronze da Cólquida.
— Como uma espécie de lubrificante antifogo — disse Mac. — Na Gronelândia, o óleo negro apagou realmente as chamas daquelas criaturas. Acho que nos potes servia para preservar e isolar os caranguejos de bronze, mantendo-os inertes até ao momento em que foram expostos ao ar e à humidade.
Seichan franziu o sobrolho.
— Okay, mas o que tem isso que ver com abrir os portões do Tártaro?
Gray regressou ao altar e olhou para os dois conjuntos de ânforas. Medeia aprendeu a criar o fogo e o único meio de o apagar. Fitou Mac. Não, o óleo negro não servia apenas para apagar o óleo verde, mas também para preservar e isolar.
Virou-se para Bailey.
— Calculo que o tamanho da depressão no altar não seja arbitrário. Se houver algum mecanismo elaborado por baixo, esta espécie de bacia de bronze tem de ser provavelmente aquecida até uma determinada temperatura.
— Provavelmente.
— E calculo que tenhamos de a encher com a quantidade certa de combustível, provavelmente até à borda.
— Como um copo medidor — disse Kowalski.
— Mas como é que transferimos o óleo para o altar? — perguntou Gray. — Não vejo aqui conchas ou baldes.
— Com as mãos — disse Bailey, endireitando-se. — Daí a existência do segundo conjunto de ânforas. Se banharmos as mãos no Sangue Prometeico, isolamos a humidade na pele, o que deverá impedir o óleo verde de se incendiar.
O padre olhou em volta, nitidamente à procura de um voluntário disposto a testar a teoria.
Kowalski bufou.
— Eu faço. Sou o especialista de demolições da Sigma. Mas, se ficar sem mãos, a culpa será sua, padre.
Kowalski encaminhou-se na direção da ânfora partida. Um dos cacos maiores tinha uma poça de óleo. Besuntou as mãos até ao pulso, cobrindo bem a pele. Depois apressou-se para a ânfora aberta no outro lado da caverna.
— Tem cuidado — disse Maria.
— Certo — respondeu ele. — Só espero que isto também me proteja da radiação.
— É provável — murmurou Bailey. — Segundo o mito, um gole de Sangue Prometeico antes de uma batalha oferecia proteção contra tudo e mais alguma coisa, até contra setas e lanças. Resultou com o Jasão dos Argonautas.
Kowalski franziu o sobrolho.
— Já olhou bem para mim? Tenho cara de algum super-herói mítico, por acaso?
Kowalski inspirou fundo e mergulhou as mãos no óleo verde que brilhava. Desviou a cara, como que à espera que aquilo irrompesse em chamas, mas nada aconteceu. Expirou e recolheu duas mãos-cheias de óleo. Ergueu os braços e esperou que as gotas residuais acabassem de cair.
— E agora? — perguntou.
— Com muito cuidado, despeje o óleo no altar — disse Bailey.
Lentamente, Kowalski encaminhou-se para o centro da caverna, enquanto os companheiros o observavam com a respiração suspensa. Inclinou-se para despejar o óleo.
— Espera! — avisou Gray.
Ainda debruçado, Kowalski ergueu uma sobrancelha.
— O que foi agora? — reclamou.
Gray correu para a ânfora partida e recolheu duas mãos-cheias de óleo negro. Correu de volta para o altar e barrou a bacia de bronze.
— Se este lugar era muito mais húmido, parece-me provável que fosse necessário isolar o bronze antes de colocar o Óleo de Medeia.
— Bem pensado — disse Bailey. — Mais vale prevenir.
— E agora já posso despejar? — perguntou Kowalski mal Gray se afastou.
Gray fez sinal para todos se afastarem.
— Força.
Kowalski cerrou os dentes e afastou as mãos, derramando o óleo na bacia. Ninguém se mexeu e também não aconteceu nada.
— Outra vez — disse Gray.
Foram necessárias várias viagens, e Gray ajudou, mas a bacia lá se foi enchendo de óleo verde até à borda. Terminada a tarefa, Gray também transferiu algum óleo negro para a ânfora aberta, cobrindo a superfície brilhante do óleo verde. Contava que pudesse funcionar como uma barreira isolante. Depois, voltou a colocar a tampa.
Satisfeito, fez sinal para todos se afastarem o mais possível e retirou a garrafa de água da mochila.
— Prontos? — perguntou.
Recebeu acenos de concordância de todos os lados e um encolher de ombros de Kowalski.
De frente para o altar, recuou uns passos e espremeu a garrafa, enviando um jato de água pelo ar.
O resultado não se fez esperar.
O óleo na bacia incendiou-se com uma explosão de fumo e o som de um trovão. Uma espiral de chamas douradas ergueu-se na direção do teto e espalhou-se pela superfície de bronze oxidado da cúpula. A fonte de fogo ardeu com intensidade durante uns segundos, forçando o grupo a proteger os rostos do brilho e do calor intenso das chamas.
Decorrido o que terá parecido um minuto — embora não tivessem sido mais do que uns segundos —, as chamas diminuíram. Já não alcançavam o teto, mas continuavam a dançar bem acima do altar.
Kowalski deu um passo em frente.
— É um bom espetáculo — disse com um gesto largo —, mas não vejo nada a...
Foi então que se ouviu um som grave, semelhante ao bater de um sino.
Todos se encolheram.
Para lá do altar, a parede da caverna abriu-se ao meio. Ao som de engrenagens distantes, as duas partes recuaram lentamente como um par de asas de bronze, convidando-os a explorar a escuridão à sua frente.
— Conseguimos! — murmurou Maria, incrédula.
— Bem podes dizê-lo — comentou Kowalski, bastante menos entusiasmado. — Não é todos os dias que alguém abre os portões do Inferno.
34
26 de junho, 17h53 WEST
Montanhas do Alto Atlas, Marrocos
Da cabina do helicóptero, Nehir estudou o desfiladeiro com a ajuda dos binóculos. Cinco minutos antes, a equipa alcançara o vale do rio Suz. Depois de tanto tempo à espera, não queria perder mais um minuto e traçara o curso ao longo de um pequeno afluente que monsenhor Roe indicara no mapa e prometia ser o caminho mais provável para o local assinalado pelo rubi.
À medida que voavam ao encontro das montanhas, o seu coração começou a bater mais depressa. Veio-lhe ao pensamento a imagem de Huri nos seus braços — o meu anjo —, antes de a criança lhe ter sido arrancada à força. Acabara de dar à luz, o corpo ainda a doer-lhe e coberto de transpiração, mas não se lembrava de alegria igual à que sentira quando lhe colocaram a bebé em cima do peito. Por breves instantes, Huri fora uma brasa incandescente que lhe aquecera o coração e a alma. Fechou os olhos, recordando o choro lancinante quando a levaram. Um segundo depois, esse choro fora interrompido pelo metal frio de uma lâmina, a mesma que lhe deixara também aquela cicatriz no queixo, embora essa dor em nada se comparasse à outra.
Abriu os olhos, reforçando a antiga promessa.
Vou abraçar-te outra vez, Huri... e ao teu irmão.
A voz do piloto fez-se ouvir no rádio do capacete.
— Avistámos um barco mais à frente. Está ancorado na margem do rio.
Nehir focou-se novamente na missão.
Serão eles?
O helicóptero sobrevoou o barco. Através dos binóculos, Nehir conseguia ver bem a lancha de alumínio com uma pequena cabina. Havia uma mulher a bordo, junto à popa. A mulher olhou para cima, protegendo os olhos do sol, depois desviou a atenção para o motor do barco. Não parecia haver mais ninguém com ela.
— Uma habitante local — disse Nehir ao piloto. — Podemos continuar.
Nehir manteve-se atenta à paisagem. Monsenhor Roe fez o mesmo no outro lado da cabina. Procuravam sinais de uma cidade perdida: as ruínas de uma muralha, uma torre, vestígios de fundações. Qualquer coisa que indiciasse a presença de civilização. O plano era sobrevoar toda a extensão do desfiladeiro e depois fazer uma busca a pé. A equipa tinha acesso aos dados de um sistema de radar com tecnologia GPR, que lhes apontara vários locais promissores, mas eram muitos. Tinha esperança de que a busca aérea pudesse limitar a área de busca.
Uma agitação a bordo desviou-lhe a atenção da paisagem.
Baixou os binóculos e olhou na direção do cockpit. O copiloto virou-se e apontou energicamente para trás. As palavras transmitidas pelo rádio chegaram-lhe aos ouvidos, carregadas de entusiasmo.
— Arranjem um local para aterrar — ordenou Nehir, com a coração a bater mais depressa. Visualizou o barco na margem do rio. — Comuniquem ao outro helicóptero para voltar para trás e aterrar a sul da embarcação.
A ideia era encurralar o inimigo entre os dois helicópteros.
Virou-se e fitou Elena, apreciando a expressão apavorada no rosto da arqueóloga.
E assim termina.
17h55
Elena assistiu à frenética troca de palavras entre Nehir e os pilotos. Percebeu imediatamente que alguma coisa se alterara. O troar dos rotores impedira-a de ouvir o que diziam, porém, pelo brilho feroz nos olhos de Nehir, não era nada de bom.
Elena não tinha sido a única a reparar nisso.
À sua frente, o monsenhor virou-se na direção de Nehir e perguntou:
— O que se passa?
O olhar da mulher permaneceu cravado em Elena.
— Apanhámos um sinal! — respondeu ela. — Os americanos já cá estão!
Um sinal?
Roe endireitou as costas.
— Como? Onde estão?
Nehir apontou para trás.
— Parece que encontraram qualquer coisa.
Elena afundou-se no assento, sentindo a boca seca. Desviou o olhar para Roe. Pelos vistos, o monsenhor não era o único traidor.
Alguém no grupo de Joe era também um espião.
35
26 de junho, 17h58 WEST
Montanhas do Alto Atlas, Marrocos
Kowalski abotoou as calças e voltou para dentro da caverna. Mac e o padre Bailey regressaram pouco depois.
Que alívio...
— Estou pronto — anunciou aos outros.
Maria abanou a cabeça e trocou um olhar com Seichan. As duas preparavam o material e acendiam as lanternas.
— Qual é o problema dos homens? Será que não resistem à tentação de urinar de cima de qualquer coisa mais alta do que um escadote?
O comentário não caiu bem a Kowalski.
— O barco da Charlie não tinha casa de banho. Um tipo não aguenta para sempre, não achas?
Ao fundo da caverna, Gray aguardava junto aos portões abertos e apontava a lanterna às profundezas do Inferno.
— Venham ver isto — gritou aos outros.
O grupo pegou nas mochilas e nas lanternas e juntou-se a ele.
As chamas ainda dançavam altas no altar, mas foram necessárias as luzes das lanternas para revelar as duas gigantescas figuras que guardavam a passagem depois do portão. O grupo avançou para ver mais de perto. As duas figuras de bronze, com o dobro da altura de Kowalski, sentavam-se sobre os quadris com as patas da frente esticadas, patas que terminavam em garras formadas por lâminas curvas de prata. Os focinhos compridos das figuras pendiam apoiados no peito, como se dormissem, mas os olhos de diamantes negros permaneciam abertos, fitando o grupo reunido aos seus pés.
— De cada lado estavam cães feitos de ouro e prata... — murmurou Bailey, como que receando acordar as bestas.
Não era a primeira vez que Kowalski ouvia aquilo. No navio, Elena recitara-lhe aquelas palavras da Odisseia de Homero.
— Os cães que guardavam os portões dos feácios.
— Isso quer dizer que devemos estar no lugar certo — admitiu Bailey com os olhos a brilhar de espanto e a refletir as chamas do altar. — A história destes cães deve ter chegado à Grécia, onde foi passada de geração em geração até se tornar parte do poema de Homero.
— O que nos leva a pensar o que mais poderá ser verdade — observou Gray num tom que tinha tanto de espanto como de apreensão.
— Só há uma forma de descobrirmos. — Kowalski apontou a lanterna em frente, para onde a passagem descrevia uma curva larga. O espaço era suficientemente amplo para se conduzir um tanque por ali adentro.
Antes de darem mais um passo, Gray olhou para trás.
— Um de nós devia ficar aqui. Se as chamas se apagarem, não sabemos se as portas se fecham sozinhas.
Sim, ficarmos encurralados em pleno Inferno não me parece uma boa ideia.
— Eu fico — disse Seichan.
Gray hesitou e olhou em volta, mas, tal como Kowalski, sabia a verdade. Precisavam de alguém para proteger a retaguarda, alguém em quem pudessem confiar, sobretudo se houvesse problemas, o que era o mais provável.
Por fim, Gray anuiu.
— Vamos a isso.
O grupo pôs-se a caminho pelo túnel escuro.
Maria juntou-se a Kowalski e deu-lhe a mão.
— Não há dúvida de que me levas a conhecer sítios novos e interessantes.
— Achas?
Ela apontou com o queixo para o fundo do túnel.
— Não é todos os dias que se ganha uma viagem de ida e volta ao Inferno.
Kowalski apertou-lhe os dedos.
— Ainda bem que estás entusiasmada. Mas já só estou a pensar no regresso a casa.
18h04
Charlie viu o helicóptero sobrevoar o barco e prosseguir pelo desfiladeiro em direção ao vale. Como acontecia sempre nos fins de semana de verão, as empresas de turismo tinham uma enorme afluência de clientes que faziam aqueles passeios, trocando o calor sufocante das praias de Agadir pelas refrescantes piscinas naturais do vale do Paraíso, mais a norte.
Apesar disso, Charlie sentiu que havia alguma coisa de errado com aquele helicóptero. Para começar, parecia-lhe ser um dos dois aparelhos que vira passar um minuto antes.
A ser o caso, porque estava já de volta?
Teria havido uma emergência a bordo? Enquanto o helicóptero se afastava, ela ouviu a diferença de timbre no som dos rotores. O aparelho descreveu uma curva larga e começou a descer, como se procurasse um sítio para aterrar.
Se estiverem com problemas, talvez seja melhor ir ver se precisam de ajuda.
Consultou o relógio. O seu grupo de passageiros partira há muito tempo e não fazia ideia de quando tencionavam regressar. Avistara-os ao longe, a treparem uma parede do desfiladeiro e a entrarem numa caverna. Só não sabia até que ponto iriam explorá-la.
Provavelmente tinha tempo para ir ao encontro do helicóptero, mas receava não conseguir regressar àquele local para recolher o grupo. Porém, e isso era o mais importante, continuava a sentir que havia algo que não batia certo. Se o helicóptero se encontrava em dificuldades, porque é que não pedira assistência ao outro?
Não, algo não bate certo nesta história.
Dirigiu-se à cabina do barco e pegou nuns binóculos. Quando se preparava para regressar à popa, um movimento na vegetação para lá da proa chamou-lhe a atenção.
Baixou-se instintivamente e espreitou pelos binóculos.
À distância, silhuetas negras aproximavam-se furtivamente pela floresta de cedros. Traziam armas em riste. Eram pelo menos nove ou dez.
Merde, praguejou.
Seriam ladrões? Assassinos? Traficantes de escravos?
Tentou afastar o medo e organizar as ideias. Precisava de alertar os outros. Mas como? Levou a mão à pistola na cintura. Podia disparar um tiro de aviso para o ar, mas isso também alertaria de que estava armada.
É melhor não.
Tal como se apresentava a situação, ela já se encontrava em inferioridade numérica. Em vez de piorar as coisas, tirou o coldre do cinto, olhou em volta e escondeu a arma debaixo da cama de Aggie. O macaco pressentira que algo estava errado e saltara-lhe para o ombro. Charlie receava que aqueles homens o matassem mal alcançassem o barco, por isso levou-o para o lado aberto da cabina.
Tirou-o do ombro e tentou pô-lo lá fora. O macaco agarrou-se à ombreira, tentando voltar para a cabina.
— Não! — exclamou ela, apontando na direção da floresta. — Esconde-te!
O rosto pequenino contraiu-se de medo.
O que posso fazer?
Foi então que se lembrou. Criara o macaco alimentando-o com um biberão e, se havia palavra que ele conhecia bem, era leite. Ela até o ensinara a ir buscar o biberão quando era hora de comer.
Visualizou a mulher chamada Seichan. Aggie mostrara-se bastante interessado nela. Deu um passo atrás, segurou num dos seios e apontou para o desfiladeiro.
— Vai procurar a mamã. Ela tem um biberão de leite para te dar.
A palavra teve o efeito desejado e, no focinho do macaco, o medo deu lugar à esperança.
— Isso mesmo — insistiu, empurrando-o suavemente para fora do barco. — Vai buscar o teu leite.
Aggie alternou o olhar entre ela e o desfiladeiro, hesitando entre o medo de a deixar e a promessa de uma refeição quente, o que sempre significara amor e segurança.
— Vai, podes ir...
O macaco soltou um breve guincho, saltou para a margem e desapareceu rapidamente na floresta. Charlie sabia que os macacos possuíam um olfato apurado. Esperava que Aggie fosse capaz de seguir o rasto do grupo.
Lançou um último olhar à floresta, ouvindo o som dos passos no outro lado do barco.
Corre, meu leãozinho, corre...
18h09
Na caverna, Seichan andava à volta do altar. Tinha visto os companheiros desaparecerem ao fundo do túnel e as luzes desaparecerem ao virar da curva.
Onde é que eles poderão estar por esta altura?
De cada vez que se aproximava da entrada do túnel, tentava ouvir sinais de problemas: tiros, gritos, explosões, mas tudo o que ouvia era o murmúrio das chamas no altar. O som ressoava nas paredes de bronze, à semelhança de uma besta aprisionada. Pelo menos, o fogo ardia com menor intensidade à medida que o óleo era consumido. As chamas não ultrapassavam a altura dos ombros.
Deu mais uma volta à gruta.
Ao passar pela entrada da caverna, um ruído chamou-lhe a atenção. Um raspar frenético no lado de fora da pilha de rochas. Lembrou-se das palavras de Mac acerca dos caranguejos de bronze.
Agachou-se e sacou da pistola.
Uma figura pequena espreitou das rochas e correu pelo meio da caverna. Ela baixou a arma e deixou que o macaquinho castanho lhe saltasse para os braços.
— O que estás aqui a fazer? — perguntou.
Aggie lançou um braço peludo ao pescoço dela, subiu-lhe para cima do ombro e ali ficou agarrado, nitidamente a necessitar de ser confortado. Seichan carregou-o até à fenda iluminada e espreitou com cuidado. Sabia que o macaco não aparecera ali por acaso.
Daquele ponto elevado, conseguia ver o barco na margem do rio, tal como o tinham deixado. A diferença era que Charlie não se encontrava sozinha. Uma equipa de assalto com equipamento de combate preto acabara de invadir o barco. Outro grupo de atacantes avançava mais a sul, através da floresta.
Vinte a trinta elementos, no total.
Sabia que não se tratava de saqueadores locais.
Encontraram-nos.
Não havia tempo para se interrogar como é que o inimigo conseguira semelhante proeza. Tinha coisas mais importantes para fazer, sobretudo quando viu alguém na popa do barco apontar na sua direção. Os atacantes saltaram para a margem e puseram-se a caminho da caverna.
Seichan recuou. Nunca seria capaz de defender a caverna com uma pistola e um punhado de facas, mesmo tirando partido da posição elevada. Os atacantes vinham armados com metralhadoras e, provavelmente, granadas. Não lhes seria difícil atirarem-na pelos ares. Sabendo disso — e para proteger os outros —, restava-lhe uma opção.
Desviou o olhar para os portões abertos.
Tenho de os fechar.
Esperava que Gray estivesse certo acerca de o fogo manter a passagem aberta. Guardou a pistola no coldre e correu para a ânfora partida com o macaco empoleirado no ombro. Pegou no caco maior que continha uma poça de óleo negro. Era pesado, mas a adrenalina deu-lhe força para o carregar.
Transportou o caco para o altar e despejou o óleo negro na bacia. O líquido viscoso atingiu a base das chamas e apagou-as rapidamente. A escuridão encheu a caverna.
— Vamos, amiguinho.
Correu para o túnel, parou entre os dois gigantescos cães de bronze e virou-se. Esperou que as portas fechassem, mas nada aconteceu.
Será que o Gray estava errado?
Cerrou os dentes, tentando decidir se corria atrás dos outros ou se ficava ali a proteger a entrada. A resposta parecia-lhe óbvia.
É melhor ficar.
Um tiroteio alertaria os companheiros, o que anulava a necessidade de correr a avisá-los. Em todo o caso, essa não era a verdadeira razão da sua escolha. Decidira depositar a sua confiança onde lhe parecia mais apropriado.
O Gray não se enganou.
Fitou a caverna escura e os raios de claridade que entravam pelo amontoado de rochas na entrada. Não eram a única fonte de luz. No altar, a bacia de bronze brilhava com um tom rubro, porventura ainda suficientemente quente para manter os portões abertos.
Seichan sabia o que lhe era exigido.
Tenho de defender o túnel até que aquilo arrefeça.
Só então os portões se fechariam.
Tomou posição num dos lados e sacou da pistola.
Serei capaz de aguentar tanto tempo?
Aggie guinchou-lhe ao ouvido, corrigindo-a, lembrando-a.
Certo, seremos capazes de aguentar tanto tempo?
36
26 de junho, 18h10 WEST
Montanhas do Alto Atlas, Marrocos
Gray deteve-se na entrada do Inferno
O enorme túnel desembocava num amplo terraço com vista para uma caverna colossal. O espaço apresentava uma configuração oval, com cerca de quatrocentos metros de largura e o dobro em comprimento. Era difícil perceber as verdadeiras dimensões, dado que os feixes de luz das lanternas não ofereciam mais do que um vislumbre da parede mais distante.
— Impressionante — murmurou Maria.
Kowalski resmungou algo em concordância, apontando a lanterna em todas as direções.
A caverna parecia natural, mas as paredes haviam sido polidas na perfeição. Nessa tela suave, alguém esculpira um interminável baixo-relevo. Uma floresta de cedros trepava pelas paredes com macacos empoleirados nos ramos e outras criaturas maiores escondidas entre os troncos, mas visíveis graças aos discos de bronze que formavam os olhos. Mais acima, nuvens cruzavam o teto acompanhadas de falcões e aves marinhas. Havia até um sol negro, a sua face talhada numa placa de bronze.
No entanto, aquela incrível demonstração de arte era apenas uma fração das maravilhas que enchiam o espaço.
No terraço, o grupo tinha uma vista privilegiada da cidade que se estendia aos seus pés, descendo em socalcos desde o terraço. Centenas de casas ocupavam aqueles degraus. A maioria não tinha mais de um piso e apresentava um formato redondo ou quadrado. Algumas erguiam-se em camadas desniveladas, como blocos de construção infantis, mas muitas outras agigantavam-se na forma de torres esculpidas com a parte de cima queimada.
Gray reconheceu aquelas últimas estruturas. Já as tinha visto. Focou a atenção e o feixe da lanterna na que se encontrava mais perto.
— São idênticas às torres nurágicas que vi na Sardenha, a que os gregos chamavam daidaleia.
Será esta a prova de que Dédalo era originário deste lugar e que terá partilhado os seus conhecimentos com o mundo antigo?
— Mas estas estruturas não são feitas de pedra — notou Mac. — Reparem na suavidade das paredes. E as superfícies mais escuras não são argamassa. Os próprios telhados parecem feitos do mesmo material. Metal.
Gray anuiu. Já tinha reparado no tom homogéneo da cidade inteira, um castanho-escuro, quase preto, que dava a ideia de que uma tempestade de fogo queimara e cobrira as superfícies de cinzas.
No entanto, duvidava que tivesse sido usada alguma madeira naquelas construções.
— Tudo isto é bronze.
Kowalski acenou na direção do túnel.
— Como lá atrás.
Mac virou-se para Gray, os olhos arregalados a refletirem a luz, as palavras sussurradas.
— Uma cidade inteira feita de bronze...
— Ou coberta de bronze, pelo menos — notou Gray, centrando a atenção do grupo. — E só a parte que conseguimos ver.
Havia bocas de túneis nas paredes dos vários socalcos, sugerindo que aquele espaço seria apenas o centro de um complexo maior, provavelmente um labirinto subterrâneo digno da fama de Dédalo. Cinco das maiores aberturas, todas mais elevadas e equidistantes umas das outras, encontravam-se fechadas com portões de bronze. Escadarias largas desciam dos portões e atravessavam a cidade em direção a uma bacia de pedra preta no centro. Centenas de estátuas de bronze perfilavam-se de ambos os lados das escadarias.
O que protegiam saltava à vista.
Gray apontou a lanterna para a maior estrutura da cidade. Paredes altas de bronze, flanqueadas por elegantes torres em espiral que alcançavam metade da altura do teto, erguiam-se num semicírculo no lado mais afastado. Os portões no centro resplandeciam.
Ouro.
Mac olhou na direção do feixe da lanterna de Gray.
— Calculo que aquilo seja o palácio.
— Por onde podemos sequer começar? — disse Maria.
— Eu acho que fizemos o que nos competia — sugeriu Kowalski. — Abrimos os portões do Inferno. Estamos aqui. Vamos pôr-nos a andar e dizemos ao Painter o que encontrámos.
Gray considerou seriamente essa hipótese. Sabia que mal tinham raspado a superfície dos mistérios ali escondidos, mas talvez fosse uma boa ideia deixar isso para os entendidos no assunto.
O padre Bailey parecia concordar.
— O seu companheiro é capaz de ter razão — disse a Gray.
O padre afastara-se e encontrava-se junto a uma rampa larga que descia do terraço para o nível seguinte. Tinhas as costas voltadas para a cidade e a lanterna apontada para a parede no cimo da rampa. O feixe iluminava linhas de texto gravadas toscamente na pedra, uma espécie de graffiti milenar.
— Isto está escrito em árabe — disse Bailey, virando-se. — Uma mensagem deixada pelos homens que fugiram daqui.
— Hunayn e os homens dele. — Gray juntou-se ao padre. — Consegue ler o que diz?
— A maior parte. Estudei árabe, mas isto tem mais de mil anos.
Maria aproximou-se.
— O que diz?
Bailey moveu o feixe da lanterna sobre as linhas de texto, como se fosse um dedo.
— Aqui dorme o Tártaro. Caminha devagar e com cuidado. Não despertes o que não deve ser acordado. Não te demores, viajante. A pestilência paira no ar, antigas maldições deixadas pela mão de Pandora. Enlouqueceram quem aqui viveu um dia, convertendo um povo benfeitor em selváticos conquistadores.
Gray interrogou-se se Hunayn estaria a falar de um algum tipo de envenenamento por radiação. Seria por isso que os feácios de Dédalo e Medeia, um povo que outrora partilhara de bom grado o seu conhecimento, que ajudara Odisseu na sua viagem, se tornara um destruidor de civilizações, um Povo do Mar que deixara um rasto de ruínas e desaparecera?
Bailey prosseguiu.
— Atenta na lição que aqui aprendi. Ousámos despertar o Tártaro, os seus ferozes defensores, e sofremos por isso. Salvei apenas os últimos de nós, devolvendo a cidade ao seu sono eterno. Se insistires em seguir os meus trágicos passos, procura para lá do palácio, onde ardem as chamas de Hades e espreitam os Titãs. Sabe, porém, que Caronte cobrará o devido preço.
Bailey fez uma pausa e explicou:
— Caronte era o barqueiro que transportava as almas para Hades ao longo do rio Estige.
— Mas qual é o preço que mencionou? — quis saber Kowalski.
— Mais do que o habitual óbolo, pelos vistos. — Bailey voltou-se para a parede e continuou a ler: — O mais corajoso de todos, aquele capaz de dar a vida pelo seu irmão, deve atravessar o funesto lago. Foi assim que devolvemos o Tártaro ao seu sono. Rogo a Alá que abençoe Abd al-Qadir pelo seu sacrifício. Em sua memória, usei o conhecimento dos meus irmãos, os restantes Banu Musa, para preparar o derradeiro final. Assim sendo, se acordares o Tártaro, que estejas ciente de que será pela última vez. É o aviso que te deixo. Toma-o como certo.
Bailey suspirou e deu um passo atrás.
— Depois está assinado Hunayn ibn Musa ibn Shakir. Ele deve ter saído daqui com o seu último barco, a carga no porão como prova da sua descoberta, e talvez com a intenção de alertar o mundo.
— E depois foi apanhado numa tempestade que o desviou do rumo — disse Gray. — O que lhe deu tempo para refletir no risco de regressar a casa com essa carga.
— Às tantas, convenceu-se de que a tempestade era um sinal de Alá — aventou Bailey. — Seria natural que se interrogasse se Deus estaria a castigá-lo ao desviá-lo do rumo, um pouco à semelhança de Odisseu, para manter o mundo em segurança.
Mac apontou para a parede.
— Mas que raio queria ele dizer com aquela parte no final? Alguém compreendeu?
Gray fitou a inscrição.
— Estou em crer que ele armadilhou a cidade de alguma forma. Não só para a adormecer, mas para a destruir por completo, caso alguém aqui voltasse.
Kowalski acenou na direção do túnel.
— O que me parece um bom motivo para não nos pormos com ideias.
Gray forçou-se a engolir a curiosidade e anuiu.
— É melhor voltarmos para trás.
Kowalski suspirou de alívio e lançou um derradeiro olhar à cidade.
— Resta-nos rezar para que não seja tarde.
37
26 de junho, 18h15 WEST
Montanhas do Alto Atlas, Marrocos
Uma vez mais, Elena deu consigo prisioneira num barco.
Aguardava na minúscula cabina da lancha de alumínio ancorada na margem do rio. Partilhava o espaço com outra prisioneira, uma jovem de macacão e chapéu de cowboy, que era também comandante do barco. A desconhecida mantinha os braços cruzados e uma expressão furiosa.
Kadir vigiava-as no exterior da cabina, vestido com equipamento tático preto, incluindo um capacete, e armado com um poderoso lança-granadas. Também trazia um machete embainhado nas costas.
Além de Kadir, outros dois soldados de Musa — um Filho e uma Filha — aguardavam na margem junto à popa do barco, armados com metralhadoras. Mantinham-se atentos à parede rochosa de um penhasco ali perto, provavelmente desapontados por não participarem no assalto em curso.
Elena espreitou pelo vidro frontal da cabina e observou Nehir, que avançava com vinte ou mais soldados na direção do penhasco, a sua força inteira, exceto por Kadir e os outros dois soldados deixados para trás.
A que se somava outra figura.
Monsenhor Roe encontrava-se de pé, à entrada da cabina. Segurava as chaves do barco numa das mãos, das quais a jovem comandante, que se chamava Charlie Izem, não tirava os olhos. Roe ignorava o interesse da mulher e mantinha a atenção focada na parede rochosa, com certeza também frustrado por ter de esperar para saber mais notícias do que fora descoberto.
Elena fitou-o. Queria respostas.
— Como souberam que eles estavam aqui? Quem vos avisou?
Roe suspirou e virou-se.
— Na verdade, não estaríamos aqui se não fosses tu, minha filha.
— Eu?
— Ajudaste o Joseph Kowalski a fugir, não foi?
— Não estou a perceber...
— Implantámos um localizador na perna dele. Quando a equipa médica lhe tratou a queimadura. — Roe tocou no peito, onde fora queimado. — Acredita em mim, com toda aquela dor, ele nunca seria capaz de sentir a colocação do implante. Deve ter pensado que estavam a injetar-lhe um antibiótico ou um analgésico.
Elena visualizou a ligadura na coxa de Joe. Julgava ter sido extremamente inteligente ao esconder ali as agulhas de bronze. Pelos vistos, não tinha sido a única a lembrar-se de usar o ferimento dele em benefício próprio.
— Perdemos o rasto do Joseph quando ele mergulhou, o que bloqueou o sinal. Depois disso, ele conseguiu escapar ao alcance do transmissor e perdemo-lo temporariamente. — Roe virou-se outra vez para o desfiladeiro. — Até ao momento.
Elena afundou-se contra a parede da cabina.
Se ele não tivesse fugido...
Charlie rompeu o silêncio.
— Tu és um padre, non? Porque estás a ajudar estes bâtards?
Roe franziu o sobrolho e estudou-a da cabeça aos pés, como que a decidir se ela era digna de uma resposta.
— Não sou apenas um padre, como dizes. Sirvo a Igreja de Tomé. Entre os crentes, somos aqueles que seguem a máxima procura e encontrarás. Significa que não cruzamos os braços. Em vez disso, procuramos ativamente o caminho que Deus escolheu para nós. Tal como eu fiz.
— O caminho para o fim do mundo, neste caso — comentou Elena.
— O caminho para lançar as fundações para o regresso de Cristo — corrigiu Roe. — Conheço as atrocidades dos homens. O que fazem uns aos outros, ao planeta. Durante décadas e enquanto arqueólogo, historiador e prefeito da mais secreta biblioteca da Igreja, observei e registei o declínio da humanidade, a imparável deterioração de tudo e de todos. O fim aproxima-se. Conseguem senti-lo? Tenciono viver o suficiente para assistir ao justo regresso de Cristo, à limpeza do mundo de toda a impureza e depravação.
Charlie cruzou os braços.
— Ah, oui, és um homem impaciente. Pronto, está explicado.
Elena teve de cobrir a boca para não se rir. Apreciou a expressão perplexa do monsenhor, que depressa se transformou em raiva, forçando-o a virar as costas com um resmungo.
— Acho preferível lutar pela humanidade do que esperar por um Deus salvador — murmurou Charlie entredentes. Desviou o olhar para Elena. — N’est-ce pas?
Elena anuiu.
Sem dúvida.
Mas havia quem não partilhasse dessa opinião.
Elena virou-se na direção do penhasco, reparando nas figuras negras que escalavam a parede rochosa. Rezou para que Joe e os companheiros encontrassem um esconderijo, nem que para isso tivessem de se aventurar para lá dos portões do Inferno.
Uma coisa era certa.
Acabou-se o tempo.
18h18
Seichan agachou-se junto à pata de um dos cães gigantescos que guardavam os portões. Na caverna, o brilho da bacia no altar atenuara-se, mas a entrada do Tártaro recusava-se a fechar. Uns minutos antes, ela até experimentara fechar os portões à força, mas sem êxito.
Alertada pelo raspar de botas na rocha, sabia que tinha de defender aquela posição durante o tempo que fosse possível. Quanto mais não fosse, isso permitiria que os outros encontrassem um lugar para se esconderem.
E ao menos não estou sozinha.
Uns braços finos, mas fortes, agarravam-se ao seu pescoço. Aggie permanecia empoleirado no seu ombro. O macaco pressentia o perigo ou, pelo menos, a ansiedade dela. O coração galopava e a transpiração cobria-lhe a pele. Ela tentara que Aggie fugisse pelo túnel, mas o macaco acabava sempre por voltar para trás, preferindo manter-se por perto.
Assim seja.
Com os olhos ajustados à escuridão da caverna, os raios de sol que penetravam pelas aberturas no amontoado de rochas à entrada eram incrivelmente brilhantes. Uma silhueta interrompeu os raios, deslocando-se na direção da abertura maior. Depois outra.
Vai começar.
Ergueu a pistola, com o ombro encostado ao portão de bronze para estabilizar a arma. Foi então que sentiu uma vibração no corpo. Vinha do portão, a ponto de fazer tremer a pistola.
Endireitou-se e recuou meia dúzia de passos.
Os portões começaram a mover-se ao som das engrenagens.
Finalmente...
Continuou a recuar, mas depressa percebeu que o processo era demasiado lento. Se abandonasse o posto, o inimigo teria tempo suficiente para entrar na caverna e alcançar o túnel. Sem alternativa, manteve a posição e voltou a erguer a pistola. Mal viu a primeira silhueta espreitar pela abertura, premiu o gatilho.
Disparou um único tiro.
Mas não na direção do invasor.
Fizera pontaria a uma das ânforas com Óleo de Medeia. O tiro obrigou os atacantes a recuar. Infelizmente, por muito que desejasse, o projétil não incendiou a substância e limitou-se a despedaçar a ânfora, derramando todo o seu conteúdo pelo chão da caverna.
Certo, passemos ao plano B.
Os braços de Aggie, que por aquela altura lhe apertavam pescoço ainda com mais força, dificultavam-lhe a respiração. Seichan recuou mais um pouco, a fim de não ser apanhada pelos portões em movimento, o que também implicava perder de vista a entrada da caverna.
Alguém disparou às cegas. Uma chuva de balas ricocheteou por toda a parte. Baixou-se e ripostou disparando dois tiros. O suficiente para segurar o inimigo no mesmo sítio.
Esperou e desesperou. As duas metades do portão continuavam separadas por uns bons dez metros, deslocando-se com uma lentidão capaz de enfurecer um santo.
Vá lá...
Viu dois atacantes correrem para o fundo da caverna, cada um tentando alcançar um lado do portão. Queriam atacá-la com fogo cruzado, o que não lhe deixaria nenhum sítio disponível para se abrigar. Não se deu ao trabalho de os repelir com a pistola. Em vez disso, pegou na garrafa de água, retirou a tampa com os dentes e atirou-a para a caverna, como se fosse uma granada.
Sem tempo a perder, Seichan virou-se, segurou Aggie contra o peito e correu pelo túnel.
Ato contínuo, o mundo atrás dela explodiu num clarão de fogo dourado.
Um sopro de ar aquecido atingiu-lhe as costas e atirou-a pelo ar. Apertou Aggie nos braços, enrolou-se e aterrou sobre o ombro, rolando pelo chão e protegendo o macaco com o corpo.
Quando parou de rebolar, virou-se rapidamente na direção do portão, ainda aberto e enquadrando um inferno ardente de chamas douradas e fumo negro. Enquanto observava, o espaço entre as duas metades do portão continuou a diminuir, comprimindo as chamas.
Infelizmente, demasiado devagar.
18h24
Nehir agachou-se num dos degraus de rocha estratificada, lutando para respirar algum ar que não estivesse a arder. As chamas projetavam-se, furiosas, da caverna mais acima. Um pedregulho soltou-se. Por pouco não lhe acertou em cheio, mas algumas lascas de rocha atingiram-lhe o rosto. O pedregulho aterrou na base do penhasco, em cima das outras rochas projetadas pela explosão, onde se encontravam também quatro companheiros esmagados pela derrocada. Outros três encontravam-se no interior da caverna na altura da explosão, pelo que podia também dá-los como mortos.
Ergueu o rosto.
As chamas começavam a diminuir.
Uma fúria intensa, bem mais feroz do que o fogo acima, impeliu-a a trepar o resto da parede. Alcançou o parapeito e espreitou para o interior da caverna. O calor queimava-lhe os olhos, o bafo escaldante de um dragão a tresandar a carne queimada e óleo.
Ao fundo da caverna, iluminado por múltiplas poças de chamas, um movimento captou-lhe o olhar castigado.
Duas portas prestes a fecharem-se.
Baixou-se para fugir ao calor e pressionou a face contra a pedra fresca. Tão perto. Reteve a vontade de desatar aos gritos e respirou fundo. Mais calma, encostou o microfone do capacete aos lábios. Visualizou a ferramenta de que precisava. Encontrava-se guardada nas traseiras do helicóptero.
— Tragam o lança-granadas!
38
26 de junho, 18h33 WEST
Montanhas do Alto Atlas, Marrocos
No terraço da cidade perdida, Gray abraçou Seichan.
— Tens a certeza de que estás bem?
Ela acenou com a cabeça e ajustou a posição do macaco empoleirado no ombro.
— Estamos os dois bem.
O resto do grupo juntou-se em redor de ambos.
Minutos antes, todos tinham ouvido o tiroteio. Ao primeiro tiro, Gray ordenara-lhes que permanecessem no terraço e sacassem as armas. Ele correra imediatamente pelo túnel, com o tiroteio a escalar de intensidade. Foi então que uma forte explosão iluminara a curva do túnel, seguida de uma baforada de ar quente. Com o coração a martelar o peito, contornara a curva a tempo de ver uma fresta de luz comprimir-se, assinalando o fecho dos portões da cidade. Enquanto corria, os portões fecharam-se finalmente, mergulhando o túnel na escuridão.
Foi quando o desespero o atingiu como um martelo, retirando-lhe a força das pernas e forçando-o a parar. No mesmo instante, uma lanterna acendera-se ao fundo, revelando uma figura a levantar-se do chão.
Graças a Deus.
No terraço, Gray pegou na mão de Seichan e virou-se para o grupo. Seichan já lhe explicara o que acontecera, o que tinha feito.
— E agora? — perguntou Mac, segurando a SIG P320 com as duas mãos.
Os outros empunhavam armas idênticas, exceto Kowalski. Tinha o saco de munições pendurado ao ombro e nas mãos carregava uma caçadeira de repetição AA-12. O enorme carregador cilíndrico comportava trinta e dois cartuchos explosivos FRAG-12, desenhados para perfurar equipamento de proteção pessoal e veículos blindados leves.
Kowalski não estava seguramente ali para ver as vistas.
Gray acenou na direção do túnel.
— Ao fechar os portões, a Seichan ganhou-nos algum tempo. Só não sabemos quanto. Seja como for, temos de aproveitar para procurar outra saída. Tem de haver alguma.
Bailey anuiu.
— Concordo. Os feácios eram demasiado inteligentes para se deixarem encurralar aqui dentro, caso tivessem de fechar os portões.
— Mas onde poderá ficar essa saída? — perguntou Maria. Virou-se para a cidade e fez um gesto largo. — Quem poderá dizer até onde se estende esta cidade? Podemos estar a falar de quilómetros e quilómetros de túneis.
Gray abanou a cabeça.
— Se houver uma saída, encontra-se aqui. — Apontou na direção do palácio. — Os soberanos deste mundo iriam querer tê-la à mão, não a quilómetros de distância.
Mac riu-se, mas concordou.
— Parece-me um bom raciocínio. E Hunayn não escreveu que foi também ali que «armadilhou» a cidade?
— Procura para lá do palácio, onde ardem as chamas de Hades e espreitam os Titãs — confirmou Bailey, recitando a mensagem na parede.
Kowalski era o único que parecia não concordar com o plano.
— A sério? Vocês acham que aquilo é o tipo de lugar para onde queremos ir?
Gray ignorou-o e pôs toda a gente em movimento. O grupo abandonou o terraço e desceu a rampa de acesso ao nível seguinte. Um labirinto de estruturas de bronze criava uma confusão de vielas estreitas sem destino certo, mas uma das escadarias principais da cidade, situada a uma curta distância do final da rampa, descia a direito por todos os níveis.
Gray conduziu-os nessa direção.
Apontou para os degraus de pedra calcária e para os portões de ouro do palácio, que ficavam mais ou menos a meio dos níveis médios no outro lado da cidade.
— Para baixo e depois novamente para cima — disse. — Uns oitocentos metros, mais coisa menos coisa, mas convém despacharmo-nos.
— E se não conseguirmos entrar no palácio? — perguntou Mac, reparando no túnel no cimo da escadaria, fechado com um portão de bronze.
— Um problema de cada vez. Vamos.
De lanterna em punho, Gray conduziu os outros até à escadaria. Parecia uma avenida ampla, com cerca de vinte metros de largura e em tudo idêntica às outras quatro que dividiam a cidade em secções. Pelo desgaste nos rebordos dos degraus, os feácios deviam ter usado aquela escadaria durante séculos, as suas sandálias desgastando a pedra lenta e metodicamente.
Gray tentou imaginar a cidade viva e a fervilhar de gente. Crianças a correrem para cima e para baixo naqueles degraus. Comerciantes a apregoar os seus produtos. Marinheiros a rirem depois de uma longa viagem, felizes por regressarem a casa.
Bailey, porém, lembrou-lhe o lado negro daquele local.
— Vejam bem estas estátuas...
O padre apontou a lanterna para uma delas, uma figura de um homem apoiado sobre um joelho, com as costas curvadas e as mãos pousadas sobre um maço de bronze. Quando Gray se aproximou da estátua, ergueu o queixo para olhar para o rosto da figura. Um único olho de bronze fitou-o de volta, com uma enorme pedra preciosa negra a fazer as vezes de pupila.
— Um ciclope... — disse Bailey, fascinado. — E vejam aquela.
O padre desviou a lanterna para o lado oposto, revelando a figura musculada de um homem com cabeça de touro e pernas que terminavam em cascos.
— Um minotauro — disse Gray.
Mac resmungou qualquer coisa e afastou-se o mais possível dessa estátua em concreto, que por certo devia recordar-lhe a criatura que enfrentara na Gronelândia.
— É como se estivéssemos diante de um panteão de mitos gregos e romanos — observou Bailey, estudando cada estátua pelo caminho. — Aquela águia colossal pode ser uma representação da ave enviada por Zeus para castigar Prometeu. E aquela gigantesca donzela a segurar um pote? A própria Pandora? E os dois cães agachados? Aposto que representam os cães que Hefesto forjou para o rei Minos.
Seichan, que trazia Aggie ao ombro, deu uma cotovelada a Gray e apontou a lanterna a um par de verdadeiros gigantes, com o dobro do tamanho das restantes estátuas. Flanqueavam a escadaria, cada um deles segurando rochedos de bronze nas mãos colossais. Quando Gray passou por baixo do olhar frio dos gigantes, reparou nos círculos concêntricos que formavam os olhos, na protuberância no cimo das cabeças. Conhecia aqueles rostos de bronze, mas numa versão de pedra.
Os gigantes do monte Prama.
Kowalski também se lembrava daqueles seres colossais.
— A Elena falou-me de um gigante destes, criado por Hefesto. Parece que atirava pedregulhos às pessoas e também as queimava vivas.
Bailey aproximou-se.
— Deve estar a referir-se a Talos. O guardião da ilha de Creta.
Kowalski encolheu os ombros.
— Pois, é capaz de ser isso.
— Talos acabou por cair às mãos da feiticeira Medeia — prosseguiu Bailey —, que usou uma das suas poções para o derrotar. — O padre olhou em volta, a sua atenção saltitando de escadaria em escadaria, todas elas repletas de estátuas. — É como se contemplássemos a história grega ao vivo e a cores.
— É bom que não, padre — resmungou Kowalski. — Acho que devemos seguir o conselho do tal árabe e certificarmo-nos de que este lugar continua morto e enterrado.
18h48
Enquanto desciam a escadaria, Maria manteve-se ao lado de Joe.
— Acham que é mesmo possível? — perguntou aos outros. — Que os feácios tenham construído isto sozinhos?
Gray parecia pouco convencido.
Bailey, por sua vez, tinha poucas dúvidas.
— Estudei em profundidade a história dos autómatos e de outros dispositivos mecânicos da antiguidade. O Período Helenístico está recheado de histórias acerca de criações fantásticas. Fabricadas por Hefesto, desenhadas por Dédalo.
— Mas isso não são mitos? — perguntou Maria.
— A maioria? Claro. Mas também existem muitos relatos fidedignos. De artesãos gregos, engenheiros e matemáticos que criaram máquinas absolutamente incríveis que se moviam sozinhas. Não estou a falar apenas de Heron de Alexandria, mas de muitos outros, homens e mulheres. Alguns nomes são conhecidos, outros perderam-se no tempo. Filão de Bizâncio construiu aias para o servirem. Uma outra mente semelhante construiu um cavalo mecânico que bebia água. Diz-se que os portões do estádio olímpico da antiguidade se abriam sozinhos, com uma águia de bronze a voar alto nos céus e um golfinho de bronze a mergulhar em baixo.
Gray continuava renitente.
Bailey prosseguiu na defesa da sua convicção.
— Os gregos eram bastante mais avançados do que pensamos. Estamos a falar de um povo que dominava sistemas hidráulicos e pneumáticos. Um povo que inventou paquímetros, gruas, engrenagens, guinchos, giroscópios e sistemas de bombeamento. Portanto, quem sabe se este povo de marinheiros, os feácios, não reuniu conhecimento suficiente e trabalhou sobre essas ideias na segurança deste local isolado, longe de tudo e de todos. Consigo imaginá-los a experimentarem, construírem, testarem. E se por acaso descobriram, por mérito ou pura sorte, um potente combustível, talvez isso lhes tenha permitido dar um inesperado salto tecnológico.
— Até se aventurarem longe demais — acrescentou Mac, olhando em volta para a cidade sombria quando alcançaram finalmente o fundo da escadaria.
— Bom, sabemos que aprenderam alguma coisa — comentou Joe. — Isso é mais que certo.
Maria refletiu sobre o que acabara de ouvir. Sabia, através do estudo de antropologia primitiva, que o conhecimento se transmitia de uma cultura para outra. Sempre que a luz do progresso se extinguia em qualquer parte do mundo, outra se acendia noutro sítio. Na civilização ocidental, a tocha da inovação passara das mãos dos gregos para os romanos e, quando o império destes caiu, passou para o mundo árabe, dando início ao que viria a ser a Idade de Ouro Islâmica, para mais tarde regressar novamente à Europa.
Seria possível que aquele povo de marinheiros tivesse dado esse salto evolutivo sozinho? Ou haveria mais alguém envolvido?
Dois anos antes, Maria participara noutra aventura da Sigma, na qual conhecera Joe e onde Baako desempenhara um papel fundamental. Nessa altura, a Sigma perseguia o rasto de uns misteriosos professores do passado. Um povo enigmático a quem os sumérios chamavam Guardiões e que também eram mencionados em textos judaicos.
Olhou em redor.
Será esta cidade outra prova da influência dos hipotéticos Guardiões?
Fosse como fosse, por mérito próprio ou ajudados por professores misteriosos, não havia dúvida de que os feácios tinham produzido milagres.
E esses milagres eram tanto maravilhosos como terríveis.
A escadaria terminava numa ampla bacia polida na pedra calcária polida. Um lago vazio com uns quatrocentos metros de comprimento e uns duzentos de profundidade. As restantes escadarias também terminavam ali. Havia centenas de estátuas à volta do lago, peixes gigantes de bronze oxidado, com as caudas curvas e as bocas abertas apontadas para cima.
Maria imaginou aquelas centenas de bocas a expelirem jatos de água, centenas de fontes a alimentar aquele lago interior. Diretamente por cima, a decorar o teto, encontrava-se um disco de bronze que representava o Sol. Imaginou os habitantes da cidade a fazerem piqueniques debaixo daquele sol frio, pais a tomarem conta das crianças a brincarem na água, a dançarem debaixo dos repuxos das fontes. Imaginou pequenos barcos a deslizar na superfície plácida do lago.
Era realmente maravilhoso.
Mas também assustador.
No lado do palácio, uma derradeira escultura de bronze vigiava o lago vazio. Erguia-se a uma altura de três andares, empoleirada na beira do lago, mas com os dois membros anteriores cravados no leito seco, dando a ideia de que se preparava para mergulhar. Era como se a monstruosa criatura fosse a mãe de todos os peixes, uma besta anfíbia com seis pescoços compridos, que terminavam em cabeças de crocodilo.
Maria olhou para cima e observou as mandíbulas abertas, cheias de dentes afiados.
Bom, se calhar isto não era o sítio mais indicado para as crianças brincarem.
Além de que havia outros perigos.
Joe apontou com a arma na direção do centro do lago, onde um enorme ralo descia direto para as profundezas da Terra.
— Sabem, aquilo é que é bem capaz de ser a verdadeira entrada para o Inferno.
Atendendo à suavidade e à inclinação das paredes do lago, ninguém se dispôs a ir espreitar.
Sobretudo quando não temos tempo a perder.
Gray pôs novamente o grupo em movimento. Apontou para a beira do lago, na direção de uma escadaria estreita que conduzia ao palácio. A escadaria refletiu as luzes das lanternas.
— Os degraus parecem ser também de ouro — observou Mac.
— Uma passadeira vermelha não devia ser suficiente para esta família real — comentou Joe.
O grupo ainda contornava o lago quando uma explosão ressoou pelo vasto espaço. Todos se detiveram e trocaram olhares, exceto Aggie, que soltou um pequeno guincho e escondeu o rosto no pescoço de Seichan.
Joe abanou a cabeça.
— Os convidados chegaram.
39
26 de junho, 18h52 WEST
Montanhas do Alto Atlas, Marrocos
A bordo da lancha, Elena encolheu-se quando a granada-foguete deflagrou a uma centena de metros. O estrondo, confinado entre as paredes do desfiladeiro, foi simplesmente ensurdecedor. Ela endireitou-se o suficiente para ver a poeira e o fumo que escapavam da caverna.
Mais abaixo, figuras negras correram na direção da parede.
Elena sabia o que acontecera momentos antes, de como Nehir fora incapaz de passar pelos portões de bronze no interior da caverna. Dois soldados tinham corrido para o helicóptero pousado mais a sul, de onde regressaram com um lança-granadas e respetivos projéteis.
Elena viu a equipa de assalto escalar novamente a parede e desaparecer entre o fumo à entrada da caverna. Esperou alguns segundos. Ninguém voltou a sair. Pelos vistos, não havia necessidade de lançarem outra granada.
Conseguiram.
Os malditos tinham derrubado o tal portão.
Recostou-se novamente contra a parede da cabina, preocupada com Joe e os outros. O que viu a seguir, porém, não fazia sentido.
Charlie retirou uma pistola debaixo de uma almofada e ergueu-a. Com monsenhor Roe e o gigante Kadir concentrados no que acontecia na caverna, Charlie virou-se e disparou.
A primeira bala atingiu a perna do sacerdote, que caiu no convés. A segunda acertou na cabeça de Kadir, ou no capacete, melhor dizendo. A bala fez ricochete sem consequências maiores, mas o impacto atirou o gigante para trás, lançando-o borda fora.
Charlie agarrou no braço de Elena.
— Vamos!
As duas correram para o convés ao longo da amurada do lado da margem. O soldado que guardava esse lado do barco olhou para cima, sem nunca lhe passar pela cabeça que as prisioneiras pudessem estar armadas. Charlie, menos desleixada, sabia com o que contava. Com um metro de distância a separá-los, alvejou o guarda no meio da cara. O corpo tombou de imediato na margem.
As duas saltaram do barco juntas. Charlie correu para a proa, agachou-se e disparou por baixo da curvatura do casco. Ouviu-se um grito no lado de lá.
Charlie continuou a contornar o barco. Elena apressou-se a segui-la. Correndo curvada, viu Charlie aproximar-se da Filha de Musa que guardava aquele lado. A mulher estava deitada no chão, com o tornozelo destruído pelo primeiro tiro. Mesmo assim, tentou alcançar a metralhadora que deixara cair.
Charlie estendeu o braço e, sem um pingo de hesitação, deu-lhe um tiro na nuca, mesmo por baixo da borda do capacete.
— Agarra na arma! — ordenou a Elena, cobrindo a posição das duas enquanto recuava para a floresta.
Elena obedeceu, ou tentou, pelo menos. Estendeu a mão para a correia da metralhadora, mas viu a areia ser cravejada por uma chuva de balas, impedindo-a de alcançar a arma e forçando-a a recuar.
Kadir...
Charlie disparou na direção da popa da lancha, o que obrigou o gigante a esconder-se, dando-lhes tempo para alcançarem a floresta de cedros. Correram por entre as árvores, refugiando-se na densa vegetação.
Foi então que o mundo explodiu à direita de Elena.
Farpas, ramos e pedaços de casca de árvore voaram pelo ar, atingindo-as como uma violenta carga de água.
Elena visualizou a arma de Kadir com o lança-granadas acoplado.
Charlie agarrou-lhe no braço e arrastou-a na direção oposta, mas foram travadas por outra explosão. Desviaram-se novamente. Kadir podia estar a disparar às cegas para o meio das árvores, mas bastava-lhe um tiro de sorte.
— Corre! — gritou Charlie.
— Para onde?
— Tanto faz!
Certo.
Por enquanto, aquele plano teria de bastar.
Sem alternativa, as duas correram para a floresta.
18h54
Nehir percorrera cerca de trinta metros do túnel quando ouviu as explosões à distância. Olhou por cima do ombro na direção da caverna agora iluminada, mas ainda envolta em fumo negro. A granada propulsada por foguete arrancara metade do portão de bronze, deixando o metal retorcido no chão do túnel.
Os restantes vinte e dois Filhos e Filhas seguiam-na de perto.
Interrogou-se se devia enviar dois deles para investigarem o que acontecera lá fora. Porém, como não ouviu mais explosões, desistiu da ideia. Virou-se novamente e mandou o grupo avançar. A prioridade era fazer sair os americanos do seu esconderijo. Até lá, queria todos os soldados por perto. Além do mais, se houvesse realmente algum problema de maior lá fora, sabia que podia contar com Kadir. Como sempre fizera a vida inteira, aliás.
Reconfortada por este pensamento, correu com os soldados, as armas em riste. As lanternas acopladas nos canos das armas rompiam a escuridão à frente.
Foi então que um novo ruído a obrigou a abrandar.
Dessa vez não era uma explosão, mas um troar profundo, sinistro, que provinha de todas as direções ao mesmo tempo. Conseguia senti-lo nas pernas, eriçando-lhe os pelos dos braços.
O que está a acontecer?
Ergueu um braço, detendo a sua equipa.
Olhou novamente para trás. Ainda conseguia ver a caverna ao fundo, apesar da curvatura do túnel. Observou o portão de bronze retorcido no chão, o troféu resultante da entrada forçada.
Talvez tenha sido um erro.
SEXTA PARTE
PROMETEU LIBERTADO
Mais adiante, verás outro espetáculo tremendo, os grifos de longo pescoço
e os cães mudos de Zeus. Foge deles o quanto puderes. Evita também
os guerreiros de um só olho, os Arimaspos, sempre cavalgando, habitantes
das margens de Plutão, que faz rolar o ouro em suas ondas.
— EM PROMETEU ACORRENTADO DE ÉSQUILO (430 A.C.)
40
26 de junho, 18h52 WEST
Montanhas do Alto Atlas, Marrocos
— Perdoai-nos as nossas ofensas — murmurou Kowalski.
Na altura em que o grupo contornou o gigantesco lago e alcançou a escadaria dourada que conduzia ao palácio, a cidade inteira começou a estremecer.
— Os outros devem ter acionado inadvertidamente um mecanismo de defesa — disse Gray.
— Vejam! — exclamou Mac, apontando na direção do nível mais elevado da cidade.
O portão de bronze que selava o túnel no cimo da escadaria mais próxima começou a subir, deixando escapar uma água escura. Kowalski deu meia-volta sobre si mesmo, reparando que acontecia o mesmo nos túneis das restantes quatro escadarias principais.
À medida que os portões subiam, a água escura converteu-se numa torrente branca que desceu rapidamente pelos degraus, transformando as escadarias em canais. Um cheiro forte a mar acompanhou a torrente, inundando o ar de sal e bruma.
— Para trás! — gritou Gray, empurrando os companheiros para as escadas douradas de acesso ao palácio.
De ambos os lados, as torrentes mais próximas chegaram ao último degrau e precipitaram-se com um estrondo sobre o lago vazio. A toda a volta, as outras torrentes fizeram o mesmo. Uma massa de água rodopiou na bacia, enchendo-a lentamente.
Porém, aquele não era o único propósito daqueles rios.
Bailey puxou Gray pelo braço e apontou a lanterna na direção da torrente mais próxima. Kowalski semicerrou os olhos. Havia qualquer coisa a mover-se ao longo das margens daquele rio. Longas filas de rodas a girar sem sair do sítio, impulsionadas pela força da água.
— Rodas dentadas de bronze — disse Bailey. — Escondidas atrás das estátuas.
Gray franziu o sobrolho, mas fez sinal ao grupo para continuar a subir.
— O que as move? — perguntou Maria.
A resposta materializou-se no nível mais elevado da cidade. Umas a seguir às outras, centenas de tochas acenderam-se com chamas douradas, depois mais e mais, até completarem o perímetro inteiro da caverna. O processo repetiu-se nos níveis seguintes, iluminando toda a cidade.
— As rodas dentadas devem bombear Óleo de Medeia pelo Tártaro — disse Bailey. — A versão deles de um sistema público de iluminação.
Mas o óleo não alimentava apenas as tochas.
Um movimento à esquerda desviou a atenção de Kowalski. À beira da água, uma das estátuas estremeceu. As placas de bronze oxidado deslocaram-se, derramando um óleo verde brilhante de cada junção, como se a estátua estivesse tão cheia que não conseguia reter mais óleo dentro dela. Como que atingindo um qualquer ponto crítico, chamas irromperam no interior e escaparem também pelas junções. A energia explosiva forçou a estátua a erguer-se. Ao virar-se com um ranger de engrenagens, o seu único olhou rodou na direção do grupo, a pedra preciosa negra iluminada pelo fogo interior.
Um ciclope...
E aquele gigante não era a única criação que despertava. Uma águia colossal bateu as asas de bronze. Um lobo ergueu o focinho na direção do sol de bronze e uivou, projetando chamas da garganta. Uma cobra do tamanho de um homem empinou-se com um chocalhar das escamas metálicas, dilatou o pescoço e sibilou, arreganhando as presas curvas a pingar óleo verde.
Por toda a cidade, as estátuas que compunham aquele bestiário mítico acordavam.
Mac fez sinal para se baixarem.
— Não podemos fazer barulho — avisou, e depois apontou na direção do palácio.
Encontravam-se já a meio da escadaria, mas os portões do palácio pareciam encontrar-se a uma distância impossível de ser superada. Sobretudo com o Tártaro a acordar. As tochas ardiam em toda a parte. As criaturas abandonavam os pedestais e deixavam rastos de fogo na água. O exército de bronze começava a ocupar as ruas, em busca dos invasores que o tinha despertado.
Gray continuou a conduzir o grupo pelas escadas. Criaturas aproximavam-se de ambos os lados, mas, com algum sorte e destreza, o grupo chegou lá acima em segurança. O palácio situava-se no nível médio da cidade. As muralhas de bronze curvas formavam um semicírculo, a pouca distância das escadas. Torres erguiam-se em espiral de ambos os lados. Os portões de ouro situavam-se precisamente à frente deles, a cerca de vinte metros.
— Fiquem aqui — sussurrou Gray.
Correu furtivamente e encostou-se contra os portões de ouro. Tentou abrir um, depois o outro. Frustrado, olhou na direção do grupo e abanou a cabeça.
Trancado.
— Eu avisei — disse Mac, recordando-lhes o comentário que fizera a esse propósito.
Bom, então está na altura de resolver o problema.
Kowalski endireitou-se e ergueu a caçadeira tática AA-12. Fez sinal para Gray se desviar, ao mesmo tempo que algo se materializou à direita. Gray encolheu-se e ficou onde estava.
Kowalski manteve-se firme.
A besta negra era enorme, uma espécie de urso, mas do tamanho de um contentor. As quatro pernas cravaram as garras de bronze na pedra. Tinha um focinho achatado, com uma cabeça redonda e orelhas curtas. Os olhos brilhavam com fogo.
Kowalski deixou-se estar quieto e em silêncio, contando que a criatura o ignorasse. À cautela, apontou-lhe a arma.
A cabeça do urso rodou na sua direção.
Kowalski teve vontade de chamar nomes a Mac. Pelos vistos, algumas das criaturas conseguiam ver — ou pelo menos detetar movimento.
Num caso ou no outro, o mal estava feito.
O urso rugiu na direção de Kowalski, cuspindo labaredas e exibindo as mandíbulas com fileiras de dentes afiados, literalmente uma armadilha de ursos.
Kowalski rugiu-lhe de volta e premiu o gatilho. A caçadeira automática despejou seis cartuchos de uma assentada. As munições explosivas FRAG-12 atingiram o monstro, despedaçando as placas de bronze e expondo o interior infernal. Um dos cartuchos entrou pela garganta e explodiu no bucho da besta, destruindo as complexas engrenagens. O urso cambaleou e estatelou-se no chão.
Gray correu na direção do grupo e apontou para os portões.
— Mete-nos lá dentro! — gritou para Kowalski. Acenou para os outros. — Baixem-se!
Com um sorriso no canto dos lábios, Kowalski virou-se para o portão, apoiou a arma na anca e disparou outra rajada de seis tiros. Os cartuchos atingiram os portões de ouro com explosões ensurdecedoras, cada impacto um soco no estômago.
Quando o fumo se desvaneceu, os portões continuavam intactos.
Estavam amolgados, raspados, mas permaneciam fechados.
— Atrás de nós! — gritou Maria.
Kowalski virou-se.
Os tiros não tinham passado despercebidos.
Por toda a parte, os rastos de chamas que se deslocavam sem destino certo convergiram na direção do palácio. Mais perto, um par de cães, ambos do tamanho de póneis, surgiu nos degraus mais abaixo. O óleo verde caía das mandíbulas como baba, pingando em chamas nos degraus. O par avançou pelas escadas.
Houve mais movimento à esquerda e à direita.
Fumo e chamas, fechando o cerco por todos os lados.
19h04
Nehir alcançou um amplo terraço com vista sobre a cidade do Tártaro, onde dançavam chamas por toda a parte. Criaturas gigantescas deslocavam-se envoltas em fumo, brilhando intensamente com um fogo interior. Rios furiosos desaguavam nas mandíbulas espumantes de um lago negro.
Isto é verdadeiramente o Inferno.
Uma série de explosões desviou-lhe a atenção para um imponente palácio ao fundo, com muralhas de bronze oxidado e portões de ouro. Avistou silhuetas mais pequenas ali, iluminadas pelas chamas.
Por fim.
O grupo parecia encurralado entre os portões fechados e as criaturas que avançavam de todos os lados. Receando que os malditos tentassem escapar para as profundezas obscuras da cidade, virou-se para o seu tenente.
— Ahmad, traz-me o lança-granadas.
O soldado voltou atrás e regressou com o longo tubo preto da arma já carregado com um projétil. Ela pegou na arma, pô-la ao ombro e apoiou um joelho no chão. Fez pontaria, centrando a mira no grupo encurralado.
Saboreou a matança iminente, porém, no instante em que premiu o gatilho, uma forma imensa agigantou-se em frente do terraço, preenchendo a linha de visão, e fê-la falhar o tiro. Com um rasto de fumo e fogo, o projétil voou pela caverna e explodiu para lá das portas do palácio.
Ela caiu de rabo no chão, chocada, e recuou rapidamente.
Diante dos seus olhos, uma parede de bronze com uma cabeça cónica e anéis em lugar dos olhos revelou-se em toda a glória. O colosso ignorou-a, porventura porque era cego, e ergueu um enorme pedregulho no ar, mais ou menos do tamanho de um jipe familiar.
— Sigam-me! — gritou ela para a equipa, rolando para um dos lados.
Pôs-se de pé e correu na direção da rampa que descia para o nível seguinte.
Os soldados seguiram-na, frenéticos.
Ato contínuo, um estrondo poderoso atirou-a pelo ar.
Ela aterrou na rampa com violência e rebolou desamparada até lá abaixo. No fundo da rampa, olhou para trás e viu o terraço soltar-se da parede da caverna e despedaçar-se aos pés do gigante de bronze. O monstro destruíra o terraço e agora enfiava o pedregulho pelo túnel dentro, martelando-o com os punhos como quem enfiava uma rolha numa garrafa.
Com o túnel selado — e vendo a sua tarefa concluída —, o gigante caiu de joelhos, deixou tombar a cabeça contra a parede e adormeceu.
Nehir aproveitou e reuniu a equipa.
Faltavam-lhe cinco elementos — desaparecidos ou mortos, ignorava.
Desviou o olhar para o fundo da caverna com a fúria a acumular-se no seu peito.
Vão pagar por isto.
41
26 de junho, 19h06
Montanhas do Alto Atlas, Marrocos
Gray reuniu a sua equipa no cimo da escadaria dourada e viu o exército de bronze mudar de direção, atraído pela explosão e destruição causadas pela granada-foguete, que incluía o desmoronamento de uma das torres em espiral. A estrutura ainda continuava a ruir, numa sucessão de estrondos metálicos.
Os cães no fundo da escada também correram atrás do barulho, mas Gray sabia que o alívio não iria durar muito tempo.
Desviou o olhar para a cidade. No centro, o lago estava quase cheio. A superfície negra rodopiava lentamente, refletindo as chamas, empurrada pela água que ainda descia das cinco escadarias principais. Acima do lago, a besta de seis cabeças começou a acordar, embora mais lentamente do que as criaturas mais pequenas. Os longos pescoços mexiam-se para a frente e para trás, os olhos de diamante cintilavam com tons rubros, as chamas saíam das mandíbulas de crocodilo com dentes pontiagudos.
Do seu ponto de vista elevado, Gray apercebeu-se subitamente da familiaridade daquela imagem, o que ela representava. Caríbdis e Cila. Os monstros da Odisseia de Homero. O primeiro era um poderoso turbilhão, um redemoinho destruidor de navios; o segundo, um gigante anfíbio, uma criatura marinha que matara parte da tripulação de Odisseu.
No entanto, aquelas duas bestas não constituíam a sua maior preocupação, tão-pouco a mais premente.
— Ali — avisou Mac, apontando para a direita.
Um bom número de criaturas aproximava-se desse lado. O grupo encontrava-se encurralado entre a horda que avançava e o local da explosão.
Vão alcançar-nos a qualquer momento.
Sabendo que não tinham escolha, Gray agarrou Kowalski pelo ombro e virou-o na direção dos portões.
— Precisamos de entrar. Tens outro carregador, certo?
Kowalski anuiu.
— Tenho mais um no saco.
— Desta vez, nada de meias-medidas. — Na cabeça de Gray, aquilo era mais ou menos como tirar o açaime a um cão raivoso, mas não havia outra hipótese. — Mete-nos lá dentro.
Kowalski sorriu.
— Baixem-se! — avisou. — Está na hora do espetáculo!
Gray deitou-se no chão e fez sinal para os outros fazerem o mesmo.
Apenas Seichan ficou de pé. Tinha o saco das armas aberto, de onde retirou as últimas duas pistolas e um rolo de fita adesiva preta.
Gray franziu o sobrolho.
— O que vais...
— Vou ganhar algum tempo — respondeu ela, correndo na direção de onde tinha sido disparada a granada.
— Espera!
— Tratem dos portões! — gritou Seichan. — Volto já!
Gray ficou a vê-la desaparecer nas sombras.
Kowalski lançou-lhe um olhar inquisidor, como que a confirmar se a ordem se mantinha.
Gray acenou com a cabeça.
— Ouviste o que ela disse. Rebenta-me aquela porcaria.
Kowalski encolheu os ombros e virou-se para os portões.
— Aqui vai disto!
Os tiros martelaram os ouvidos de Gray, a cabeça, o peito. Em modo automático, a caçadeira tática do companheiro cuspia trezentos cartuchos por minuto. Kowalski não se fez rogado e despejou os últimos vinte cartuchos de uma assentada. Cada um continha 3,4 gramas de A5, um composto explosivo capaz de perfurar veículos de assalto e portas blindadas.
E, esperamos nós, aqueles portões.
O ataque de Kowalski durou apenas uns segundos. Quando terminou, a cabeça de Gray vibrava como um sino. Não ouvia nada exceto um zunido.
À medida que o fumo se dissipava, os estragos nos portões revelaram-se finalmente. Um dos portões do palácio pendia de um elaborado sistema de engrenagens. Os vintes cartuchos explosivos tinham empurrado o portão, arrancando-o parcialmente. Continuava de pé, era certo, mas a brecha que se abrira parecia ser o suficiente para conseguirem entrar.
A cavalo dado não se olha o dente.
Gray não se deu ao trabalho de gritar aos companheiros, nenhum deles estaria menos surdo do que ele. Levantou-se e correu curvado para o portão, arrastando os outros consigo. Alcançou a abertura e fez sinal para a equipa entrar primeiro. Maria passou por ele, seguida por Mac e Bailey, ambos de olhos arregalados pela adrenalina.
Kowalski tirou o carregador vazio e atirou-o para um dos lados. Gray juntou-se a ele. Ambos olharam para a escuridão.
Onde está a Seichan?
19h10
Seichan ajoelhou-se na escuridão com Aggie empoleirado no seu ombro. Uma das tochas ao fundo de uma avenida larga oferecia iluminação suficiente para o que tinha de fazer.
Agarrou no rolo de fita adesiva e colou rapidamente uma das SIG Sauer à parede de bronze de uma casa de dois pisos. Posicionou a arma a cerca de setenta centímetros do chão. Tinha já estendido uma porção entrançada de fita, colando uma das pontas a um poste no outro lado da via. Com um dos punhais, aparou a outra ponta e prendeu-a à volta do gatilho da pistola.
Satisfeita, pôs-se de pé. Desejava duas coisas: que a corda improvisada não fosse visível na escuridão e que o inimigo que disparara a granada tentasse chegar ao palácio por aquela avenida. Aquela e outra que também armadilhara pareciam-lhe os caminhos mais prováveis.
Ou assim espero, pelo menos.
Concluída a missão, pôs-se outra vez a caminho do palácio com passo apressado, fazendo tudo para se manter ao abrigo das sombras.
Subitamente, o braço de Aggie apertou-lhe o pescoço, as unhas pequeninas cravaram-se-lhe na pele.
Ato contínuo, ela também ouviu.
Nas suas costas.
O bater de bronze na pedra.
Olhou para trás e viu uma criatura flamejante dobrar a esquina e correr na sua direção, com um rasto de fumo atrás da silhueta imensa.
Ela correu mais depressa, mas o martelar do metal na pedra tornou-se mais forte, indicando que a criatura encurtava a distância. Manter-se ao abrigo das sombras deixara de ser uma preocupação. Em vez disso, corria a direito pelo fogo e fumo, focada unicamente no objetivo, o brilho do palácio, que lhe parecia cada vez mais fora de alcance.
A imagem de Jack veio-lhe ao pensamento, juntamente com o som do riso dele.
Sentiu o macaco tremer de medo no seu ombro.
Reuniu toda a força que tinha e correu pelas vidas de todos.
19h13
Gray aguardava com Kowalski nos portões do palácio. Apertava a pistola entre as mãos. A barragem de fogo do companheiro não passara despercebida. Prova disso eram as criaturas que convergiam de todas as direções, direitas ao palácio.
— Estamos a ficar sem tempo — avisou Kowalski.
Gray susteve a respiração. Depois ouviu um som atroador à direita e virou-se.
Seichan surgiu ao fundo da esquina da muralha do palácio. Corria com os olhos arregalados.
— Fujam! — gritou-lhes.
Antes que algum deles conseguissem reagir, um enorme cavalo de bronze materializou-se atrás de Seichan. Galopava para a apanhar, com os cascos de metal a soltar faíscas no chão e a cabeça baixa, a crina volumosa a dançar com chamas altas que deixavam um rasto de fumo.
Gray ficou momentaneamente paralisado pela beleza mortífera da criatura.
Menos impressionado, Kowalski acenou para Seichan.
— Rápido! Por aqui!
Ao alcançar os portões, Seichan pegou em Aggie e esgueirou-se pela brecha do portão. Kowalski seguiu atrás dela.
Gray disparou para o cavalo, tentando ganhar alguns segundos, mas as balas limitaram-se a ressaltar na armadura de bronze, como se fossem moscas.
O cavalo baixou mais a cabeça e carregou direito a ele.
Os calcanhares de Gray foram subitamente agarrados por um punho de ferro. As suas pernas foram puxadas e ele caiu de barriga no chão e foi arrastado através da brecha — exatamente no preciso instante em que a cabeça do cavalo investiu contra os portões de ouro. O impacto foi forte o suficiente para empurrar os portões mais uns centímetros. Uma explosão de fogo envolveu Gray, queimando-lhe o rosto à medida que era puxado para o interior do palácio.
Lá fora, o cavalo empinou-se e arremessou os cascos contra o portão, mas a estrutura aguentou-se. Gray percebeu porque é que a besta fora impedida de entrar. Os portões do palácio tinham pelo menos trinta centímetros de espessura, dando até a ideia de que seriam feitos de ouro sólido.
Gray levantou-se e juntou-se aos outros no átrio.
Kowalski tinha um joelho no chão e retirava do saco de munições outro carregador para a sua potente arma.
Enquanto o cavalo golpeava os portões, Bailey agachou-se e murmurou:
— Hippoi Kabeirikoi...
Kowalski franziu o sobrolho na direção do padre.
Bailey apontou com o queixo.
— Um dos quatro cavalos que Hefesto forjou para puxar a biga dos seus filhos gémeos.
Não tardou que outras criaturas se juntassem ao cavalo, atraídas pelo ruído. Gray conseguia ouvi-las a aproximar-se, o raspar crescente de bronze na pedra. Não sabia quanto tempo resistiriam os portões à investida.
— Precisamos de encontrar a outra saída — disse ele. — A mensagem de Hunayn apontava para um lugar qualquer para lá do palácio. É para onde temos de ir.
Gray conduziu os outros por uma entrada de bronze que desembocava numa imensa galeria com uma altura de três andares e um teto abobadado, de onde pendia um candelabro de ouro em forma de búzio, cujos rebordos ardiam com pequenas chamas douradas. As paredes em volta estavam iluminadas com mais tochas. Mais adiante encontravam-se dois tronos de ouro, colocados num estrado decorado com gravuras de barcos a navegar e peixes a cortar as ondas. Ao fundo da galeria, erguia-se uma gigantesca lareira de pedra esculpida na parede da caverna, onde dançavam chamas altas alimentadas por óleo.
Dois túneis flanqueavam a lareira conduzindo às profundezas da caverna.
Gray apontou na direção dos túneis.
— Temos de lhes dar uma olhadela.
— Se vais dizer para nos separarmos... — avisou Kowalski.
Gray ignorou-o e apontou para Seichan, Kowalski e Maria.
— Vocês verifiquem o do lado esquerdo, nós vemos o outro. Permaneçam à vista uns dos outros e não avancem muito. — Lançou um olhar a Kowalski. — O resto fazemos juntos.
— Acho muito bem — disse Kowalski.
A meio da galeria, começaram a ouvir ruídos por todo o lado. Ecoavam das passagens de bronze e das galerias de ambos os lados, sons de metal a raspar, a tilintar, a chocalhar.
— Não estamos sozinhos — murmurou Mac.
E não é só aqui dentro.
Mais atrás, ouviu-se o tiro distante de uma pistola, a que seguiu um curto tiroteio e a explosão de uma granada. O grupo trocou olhares preocupados.
Gray olhou para Seichan, que se limitou a sorrir, satisfeita.
Pelos vistos, a missão dela não tinha sido em vão.
19h22
De espingarda ao ombro, Nehir cambaleou entre a carnificina da sua equipa. Para onde quer que se virasse, gritos ecoavam nas paredes de bronze. Naquele canto da cidade, o labirinto de torres e casas fechadas não oferecia nenhum refúgio. Respirou fundo e colou as costas à parede de um edifício.
À frente dela, poças de sangue no chão refletiam as chamas das tochas. Mais atrás, uma Filha de Musa rastejou de um beco, sendo outra vez puxada para trás ao som de um esmagar de ossos. Outro soldado passou a correr, em pânico e desarmado. Quando ele passou por uma rua mais larga, um touro de bronze materializou-se do nada e colheu-o, empalando-o com os cornos, para depois voltar a desaparecer com um troar de cascos, deixando para trás apenas os gritos agonizantes.
Uma série de granadas explodiu noutra rua mais à frente.
Nehir deixou-se estar. Por aquela altura, já tinha percebido que as ferozes criaturas eram atraídas pelo som e que o movimento as levava a atacar.
Uma lição que aprendera demasiado tarde.
Do terraço em ruínas, ela conduzira a equipa até ao nível médio da cidade, perdendo dois elementos quando tentara atravessar um dos rios sem a ajuda de cordas. A partir desse ponto, experimentara o caminho mais direto para o palácio, desviando o grupo para o labirinto de casas e torres.
Pouco tempo depois, um dos soldados tropeçara numa armadilha colocada ao longo de uma das ruas. Um tiro de pistola desfizera-lhe a canela e ele caíra a gritar, tanto de choque como de dor. No entanto, o verdadeiro propósito da armadilha revelara-se bastante mais mortal. O tiro e os gritos chamaram atenções indesejadas.
Antes que alguém pudesse acudir ao companheiro ferido, uma águia voara de cima de um edifício, à semelhança de uma gárgula que despertara. Mergulhou sobre outro soldado, rasgando-o em pedaços com o bico metálico. A equipa afugentara a besta com dezenas de tiros, mas a refrega fizera surgir outras. Sucederam-se outras tantas mortes e, em menos de nada, havia detonações por todo o lado, intercaladas por gritos agonizantes. As ruas estreitas e labirínticas tinham-se convertido no terreno de caça daqueles predadores infernais.
Tomada pelo pânico, a equipa espalhara-se em todas as direções.
Nehir percebeu o que precisava de fazer.
Tenho de sair deste maldito nível.
Com as costas coladas à parede, avançou pela rua abaixo, sustendo a respiração. Mantinha a espingarda junto ao peito, sabendo que não podia utilizá-la, mas incapaz de a largar. Alcançou o cruzamento seguinte e espreitou junto à esquina. Uma granada explodiu uma dezena de metros atrás, assustando-a e empurrando-a para a frente. Caiu agachada no meio da rua, mas não havia nenhuma ameaça à vista.
Suspirou de alívio e correu por essa rua secundária. Uns metros mais à frente, deparou-se com um corpo desfeito. Era o soldado colhido pelo touro. Contornou o cadáver, atenta a qualquer sinal da besta.
Foi então que uma mão a agarrou pelas costas e a puxou para um beco estreito que lhe escapara. Ela virou-se e encontrou Ahmad, o seu tenente, ali escondido com mais dois homens. Ahmad levou um dedo aos lábios, sinal de que também aprendera a lição. Depois acenou na direção do beco e apontou para baixo.
Tal como Nehir, o tenente sabia que a única hipótese de sobrevivência passava por saírem daquela zona de morte, o que implicava alcançarem o nível seguinte da cidade. Ela acenou com a cabeça e deixou-o liderar o caminho. O tenente avançou por uma série de vielas apertadas, que às vezes obrigavam a andar de lado. Em todo o caso, quanto mais apertadas as ruas, melhor. Qualquer coisa que impedisse as criaturas de os apanharem constituía um progresso.
Alcançaram finalmente uma escada quase vertical, que descia para o nível seguinte. Ahmad fez sinal para ela descer primeiro. Nehir não se fez rogada e desceu rapidamente para as sombras mais calmas do nível seguinte. Ahmad desceu depois, seguido pelos outros. Lá em baixo, ela olhou para cima e viu o último homem ser arrancado das escadas e levantado pelo ar.
O soldado esperneou e gritou nas mãos de uma enorme mulher de bronze. O belo rosto esculpido refletia as chamas da cidade. A mulher virou o soldado para ela e inclinou-se, como se fosse beijá-lo, mas não encostou os lábios. Ao redor do rosto de bronze, uma dezena de víboras também de bronze atacou e atingiu o soldado na garganta e no rosto, cuspindo óleo verde e fogo. Só então a Medusa se endireitou e segurou o seu prisioneiro bem alto, cujas mordeduras das serpentes ardiam e escureciam à medida que o veneno se espalhava.
Passado um instante, o rosto dele explodiu inteiro, arrancando a carne do osso.
Ahmad agarrou no ombro de Nehir e puxou-a para a segurança das sombras. Ela apressou-se atrás do tenente, mas ainda ouviu o baque seco do corpo do soldado a cair no chão depois de a Medusa o largar.
Nehir desapareceu de bom grado nas sombras, agradecendo em silêncio a Alá por ter sido poupada. Enquanto avançava com os dois homens pelo caminho menos exposto naquele nível, ia deixando os horrores e o sangue derramado para trás. Volta e meia, olhava para cima e vislumbrava o belo palácio e os seus portões de ouro. Compreendia finalmente a razão do assalto determinado dos americanos ao palácio.
Procuram uma saída.
Esse objetivo deu-lhe força para continuar. Tencionava sair dali inteira, porém, o que realmente a sustinha, aquilo que a impedia de desmoronar diante do horror ali vivido era um objetivo maior. Recordou a maldita armadilha, consciente de quem a preparara. Mais do que sobreviver, tinha uma nova missão.
Vingança.
19h24
Escondida atrás de um dos tronos de ouro, Seichan fez o melhor que podia para manter Aggie em silêncio. O macaco apertava-lhe o pescoço e batia os dentes, enquanto ela lhe sussurrava ao ouvido tentando tranquilizá-lo com as palavras e o calor da respiração.
Kowalski era mais difícil de controlar.
— Isto é uma aberração! — murmurou ele ao lado dela, com o olhar cravado no que acontecia na sala do trono.
Maria deu-lhe uma cotovelada para o calar. Gray, Mac e Bailey estavam escondidos atrás do segundo trono.
Minutos antes, o grupo dividira-se e examinara rapidamente as duas passagens junto à lareira. A equipa de Seichan inspecionara o túnel no lado esquerdo, descobrindo apenas uma pequena divisão que nada tinha de prometedor.
Gray tivera mais sorte e acenara-lhes para se juntarem a ele no segundo túnel. Porém, quando Seichan se preparava para o fazer, a sala do trono recebera um cortejo de convidados, que obrigara toda a gente a esconder-se.
Na imensa galeria, uma multidão de figuras de bronze continuava a desaguar das galerias contíguas. Seichan contara várias dezenas até ao momento. Um pouco antes, o grupo ouvira as figuras nas profundezas do palácio a deslocarem-se lentamente para a sala do trono.
Ao contrário dos horrores lá fora, aquelas figuras eram humanoides, homens e mulheres de bronze, cujos rostos haviam perdido as feições há muito tempo. Ainda assim, haviam sido esculpidos com longas túnicas ajustadas com cintos. As mulheres tinham os cabelos entrançados e enfeitados com flores. Alguns dos homens usavam capacetes altos, com cristas, e carregavam escudos presos nos braços. Dava a ideia de que se tratava de pessoal do palácio, que em tempos servira a família real.
Seichan calculou que estivesse a olhar para a mais fiel representação do que seriam os feácios. Os mecanismos que suportavam as figuras humanoides deviam ser mais delicados do que os das criaturas lá fora. Pelo menos, não tinham resistido à passagem do tempo com a mesma facilidade. Alguns caminhavam com passos descoordenados, outros coxeavam, outros tinham os braços caídos ao longo do corpo, inutilizados.
E estes nem eram o pior de tudo.
Também havia crianças. Algumas igualmente avariadas, como brinquedos velhos que alguém deitara fora. Na verdade, Seichan calculava que pudessem ser exatamente isso, brinquedos de companhia das crianças da família real. Incluindo bebés, pequenos querubins de bronze com bochechas coradas e pernas e braços gordos, que gatinhavam pelo chão de pedra.
Apesar da aparência inofensiva, o perigo era real. Muitas figuras permaneciam intactas, movendo-se com aparente normalidade. Os fogos que as alimentavam brilhavam com o habitual fulgor, aquecendo as placas de bronze a ponto de fumegarem. E, à semelhança dos guardiões da cidade, as figuras ali reunidas tinham sido convocadas pelo ruído nos portões do palácio. Continuavam a avançar nessa direção, prontas para defenderem o reino.
Gray esperou até que restasse apenas um punhado delas na sala, quase todas avariadas, e depois fez sinal à equipa. Correu curvado para a passagem de pedra mais afastada, agachou-se nas sombras e continuou a acenar para que todos corressem para o túnel.
O grupo assim fez, juntando-se a ele o mais silenciosamente possível.
Uma vez reunidos no túnel, Gray conduziu-os pela passagem arqueada, iluminada por uma fila de tochas que parecia estender-se para sempre. Ninguém disse nada até que o único som que ouviam era o dos próprios passos.
— Isto tem de conduzir a algum lado — murmurou finalmente Mac.
— Eu diria que estamos a avançar para lá do palácio — concordou Bailey. — Tal como na mensagem de Hunayn.
Seichan sentiu-se segura o suficiente para aliviar a força com que Aggie lhe apertava o pescoço. O macaco protestou, mas ela massajou-lhe as costas, algo que sempre acalmava Jack e que, pelos vistos, também acalmava Aggie.
Maria apercebeu-se da luta dela com o macaco e estendeu os braços.
— Queres que o leve?
— Não é preciso, eu tomo conta dele.
Maria anuiu, não se sentindo ofendida.
Gray, por sua vez, olhou para ela e ergueu a sobrancelha.
Seichan ignorou-o. Não lhe devia explicações. Talvez a preocupação com o macaco fosse fruto do instinto maternal, de um qualquer mecanismo alimentado a hormonas que lhe controlava as ações, tornando-a igual às figuras humanoides na sala do trono. No entanto, sabia que a explicação era mais simples. Se Aggie não tivesse entrado na caverna, se Charlie não o enviasse, quem sabe se não estariam mortos? Em virtude disso, e nem que fosse como uma forma de agradecimento, tencionava proteger o macaco e devolvê-lo inteiro à «mãe adotiva».
Partindo do princípio de que ela continuava viva.
O que é uma grande interrogação.
42
26 de junho, 19h30 WEST
Montanhas do Alto Atlas, Marrocos
Charlie agachou-se no limiar da floresta. Segurava a pistola com as duas mãos, como se rezasse. Não havia dúvida de que lhe dava jeito alguma proteção divina, porém, como se costumava dizer, Deus ajuda quem se ajuda a si mesmo.
Exatamente o que tencionava fazer.
— Tem cuidado — sussurrou Elena ao seu lado.
Charlie anuiu. Também fazia parte do plano. Observou o terreno aberto até ao helicóptero pousado na erva. Não sabia pilotar uma coisa daquelas, mas não era para isso que estava ali. Nos últimos vinte minutos, conduzira Elena pela floresta, sempre em direção a norte. Tinham despistado o gigante armado, o que por si só era um feito considerável.
Por enquanto.
Charlie não podia contar que a sorte durasse, sobretudo se a equipa que entrara na caverna regressasse para lhes dar caça pela floresta. Restando-lhe duas balas na pistola, o plano era encontrar outras armas e fugir para as montanhas a norte. Se lhe dessem a escolher, preferia seguir para sul, em direção ao distante Suz, mas essa opção era mais complicada com o caminho bloqueado pelo afluente onde ancorara o barco.
As montanhas constituíam a opção certa, com a floresta cerrada e mais sítios para se esconderem. Além disso, sabia que um dos helicópteros pousara naquele local.
Observou o aparelho abandonado. Precisava de o alcançar, procurar armas, porventura um rádio, e seguir caminho. Esperou três minutos, atenta a qualquer movimento. Um vento seco de norte abanou a erva, aumentando-lhe a ansiedade. Por fim, decidiu que esperara o suficiente.
Tenho de arriscar.
Virou-se para Elena.
— Fica escondida. Volto já.
Elena anuiu e recuou para o meio das sombras.
Charlie endireitou-se e correu pelo campo, contornando rochas e arbustos, sempre atenta a ameaças. Continuava a não haver sinais de movimento junto ao helicóptero. Porém, uma vez que concentrara a atenção no aparelho, esqueceu-se de que o perigo podia chegar de qualquer lado.
Elena não se esquecera e gritou-lhe do esconderijo:
— À tua esquerda!
Charlie não precisou de confirmação visual para se atirar para o chão. Alguém disparou do lado do rio, retalhando a erva acima dela. Virou-se e viu de relance uma figura encorpada erguer-se atrás de um rochedo na margem. Kadir devia ter descido o canal, adivinhando as suas intenções. O tempo que ela perdera com cautelas dera ao gigante a oportunidade de preparar aquela emboscada.
Charlie rastejou até uma rocha e abrigou-se.
E agora?
Tinha segundos para encontrar uma solução enquanto Kadir disparava na direção de Elena, provavelmente sabendo que ela não constituía uma ameaça. Mesmo que ela tivesse um carregador cheio, que raio podia fazer contra aquele homem?
E só tenho duas balas.
Fitou o helicóptero, os tanques de combustível suplementares sob o trem de aterragem.
Ergueu novamente a pistola.
Protege a minha retaguarda, meu Deus.
Espreitando do esconderijo, fez pontaria aos depósitos e disparou. Pelo menos, teve a certeza de que acertara no alvo. Conseguira ver a faísca junto à tampa do depósito, ouvira o impacto no metal. Virou-se e fugiu na direção da floresta. Ao contrário do que se via nos filmes, não houve nenhuma explosão. Ela sabia que seria assim ou não tivesse passado a vida inteira a trabalhar com motores.
No entanto, como também esperava que acontecesse, havia alguém que assistira a demasiados filmes. Pelo canto do olhou, viu Kadir desaparecer atrás do rochedo. O gigante até ergueu um braço à frente do rosto quando mergulhou para se proteger da hipotética explosão.
A artimanha deu-lhe tempo para percorrer metade da distância até à floresta. Kadir espreitou de novo, alternando um olhar confuso entre o helicóptero e ela. O gigante ergueu novamente a metralhadora, mas a mira da pistola de Charlie já se encontrava centrada nele. Ela premiu o gatilho, forçando-o a esconder-se outra vez.
Esses escassos segundos permitiram-lhe alcançar finalmente a floresta. Não abrandou e viu Elena juntar-se a ela uns metros mais à frente.
Continuaram a correr, e foi quando o mundo nas costas de ambas explodiu numa bola de fogo.
Que raio? O helicóptero explodiu mesmo?
Seguiu-se outra explosão à direita e mais uma à esquerda.
Charlie compreendeu o que estava a acontecer. Kadir disparava outra vez granadas, mas desta vez tratava-se de cargas incendiárias.
Arriscou olhar por cima do ombro.
Uma muralha de chamas crescia e espalhava-se, convertendo-se rapidamente num infernal incêndio florestal. O vento norte empurrava o fumo pela floresta, aquecendo o ar, dificultando a respiração. Não tardou para que Elena começasse a tossir descontroladamente.
Charlie percebeu a intenção de Kadir.
Quer empurrar-nos de volta para o barco.
43
26 de junho, 19h38 WEST
Montanhas do Alto Atlas, Marrocos
Ao fundo do túnel, Gray deparou-se com uma porta de bronze. A meio metro de distância, sentia o calor que irradiava do metal. Estendeu o braço e tocou num dos puxadores. Estava quente, mas não queimava.
Recordou o aviso misterioso de Hunayn.
Para lá do palácio, onde ardem as chamas de Hades...
— Afastem-se — ordenou aos outros.
Vamos lá ver se estamos no local certo.
Pegou no puxador e tentou abrir a porta. Não aconteceu nada. Gray receou que pudesse estar trancada, à semelhança dos portões do palácio. Tentou de novo e a porta cedeu. Suspirou de alívio. Fincou os pés no chão e empurrou a porta, que era de bronze sólido, com cerca de trinta centímetros de espessura, uma autêntica porta de um cofre.
Teve dificuldade em abri-la, não tanto pelo peso, mas pelo calor intenso e pelo fedor sulfuroso, semelhante a ovos podres, que imediatamente invadiu o túnel. No entanto, forçou-se a empurrar a porta na totalidade.
— Se isto não é o Inferno, anda lá perto — resmungou Kowalski, abanando uma das mãos à frente do nariz.
Gray endireitou-se e espreitou a caverna existente depois da porta. O espaço era colossal, quase sem fim à vista para cima e estendendo-se centenas de metros à esquerda e à direita. Gigantescas estalactites pendiam do teto que mal se conseguia ver.
Aquela caverna não era civilizada e refinada como a da cidade dos feácios. A ser alguma coisa, era a casa de Hefesto, uma autêntica forja de Vulcano, um vasto complexo industrial cheio de vapor.
Gray conduziu os outros para o interior da caverna.
Em cada um dos lados, uma extensa operação mineira recortara as paredes em vários socalcos que se erguiam por ali acima, deixando pilhas de entulho na base. Gray imaginou o trabalho ali efetuado, a recolha do muito necessário minério, sobretudo o fosfato de cálcio.
Continuou a avançar, atraído pelo brilho rubro que iluminava o fundo da caverna. A temperatura aumentava a cada passo, a fonte do calor infernal tornava-se mais evidente.
Um abismo separava a caverna em duas metades. Uma gigantesca laje de pedra fora colocada sobre a fenda há muito tempo, criando uma ponte para o outro lado.
Gray aproximou-se da beira e espreitou lá para baixo. A queda parecia interminável, como se conduzisse ao próprio núcleo da Terra. Um rio de fogo ardia nas profundezas, gerando um calor que se tornava demasiado intenso em poucos segundos. Gray foi obrigado a recuar.
Bailey também não resistiu a espreitar.
— Magma — disse o padre.
Gray anuiu, visualizando o mapa de Da Vinci.
— Isto pode ser a junção das placas africana e eurasiática.
— Uma autêntica fenda na superfície do mundo — disse Bailey.
Gray encaminhou-se para a ponte de pedra improvisada, arriscando a exposição ao calor e ao ar sulfuroso. Subiu para cima da laje para ver melhor o que havia no outro lado da fenda.
Os outros juntaram-se atrás dele.
— Magnífico... — murmurou Maria num tom de reverência, como quem admira uma catedral.
— E assustador — acrescentou Mac.
Mais adiante, e cobrindo cerca de vinte hectares, encontrava-se algo que parecia saído de um pesadelo de Brobdingnag, a fundição de um deus louco. O esqueleto daquela fábrica adormecida era uma complexa rede de tubagens de bronze, dispostas em camadas que se estendiam desde o rio de magma até ao teto distante. Por todo o lado havia filas de fornalhas desligadas, estufas e outro equipamento semelhante.
Ainda assim, até aquela fábrica milenar parecia dar sinais de estar a despertar.
Nas profundezas do espaço, um punhado de fornalhas iluminou-se com chamas douradas. Motores rugiram, soltando silvos de vapor esporádicos. Um óleo verde brilhante borbulhava em tanques verticais de vidro e bronze. Válvulas começaram a girar sozinhas, impulsionadas por vapor ou por fogo prometeico. À direita, um tubo silvou e irrompeu em chamas. Outras tochas industriais acenderam-se, envoltas em fumo.
— Olhem — disse Mac.
O climatologista apontou para a direita, na direção de gigantescas cubas abertas a transbordar de óleo negro. Canos estendiam-se dessas cubas até um lago de lama que borbulhava com gases sulfurosos. A superfície do lago brilhava com manchas do mesmo óleo bruto. Ao que tudo indicava, tratava-se da fonte do Sangue Prometeico.
Um mistério resolvido, entre tantos outros.
Gray pôs outra vez o grupo em movimento. Havia muito a fazer. Encontrar uma saída, por exemplo, ou uma maneira de desligar a cidade, pelo menos.
Contudo, o último aviso de Hunayn martelava-lhe na cabeça como um disco riscado.
Se acordares o Tártaro, que estejas ciente de que será pela última vez.
Com essa ideia sombria em mente, prosseguiu pela fábrica infernal. Tanto ele como os outros tinham visto o resultado do trabalho que ali era feito, quer na forma das criaturas à solta na cidade, quer nos próprios edifícios. No entanto, as maiores façanhas dos feácios, as suas obras-primas, encontravam-se ali.
O grupo caminhou com cuidado, receoso de acordar os colossos de bronze adormecidos. Seis de cada lado. Tinham à volta de dez andares de altura, envoltos em andaimes e escadas. Não pareciam estar terminados, mas as formas dos corpos e rostos deixavam pouco a adivinhar. Seis homens e seis mulheres. Dois eram horrendos, com múltiplos membros disformes, quase como se tivessem saído da mente de H.P. Lovecraft, autênticos monstros ctónicos.
— Os Deuses Antigos — murmurou Bailey. — Os Titãs da mitologia grega. Os doze filhos de Urano e Gaia, mais tarde feitos prisioneiros pelos deuses que lhes sucederam.
— E parece que assim continuam — observou Maria. — Numa prisão de tubos de bronze.
Gray estudou um dos colossos, cujo peito se encontrava aberto. Lá dentro, sangue verde corria num emaranhado de veias de cristal, iluminando a cavidade torácica. No centro, havia uma peça redonda de ouro e bronze, não muito diferente do astrolábio que os conduzira até ali, embora com um aspeto mais ameaçador.
Gray imaginou aquela máquina de guerra — que de alguma forma sabia que era — a marchar num campo de batalha com o seu sangue radioativo a borbulhar, como se fosse uma bomba nuclear com braços e pernas.
— Não podemos permitir que isto caia nas mãos erradas — disse. — Ou nas mãos de alguém, melhor dizendo.
Gray calculou que Hunayn tivesse sentido o mesmo um milénio antes.
Mas o que tinha ele feito?
Gray apressou o grupo pela fundição, passando sob os olhares titânicos dos Deuses Antigos, conduzindo-os até uma pequena antecâmara no outro lado da caverna.
Duas fontes de óleo negro — Sangue Prometeico — enchiam tanques de pedra de ambos os lados, com o excesso a derramar-se em bacias no chão por onde escoava. Um dos tanques era enorme, digno de uma sala de banhos romana, o outro pouco maior do que um lava-louça.
No centro, havia mais uma porta de bronze, idêntica àquela por onde tinham entrado, mas esta tinha um pequeno postigo com uma pedra translúcida, porventura cristal polido ou uma forma primitiva de vidro.
A vista através dela era enevoada, porém os pormenores eram suficientemente percetíveis, sobretudo tendo em conta o que iluminava o espaço. Para lá de um pequeno patamar de bronze, existia uma piscina de tamanho olímpico que ocupava a totalidade da divisão. Ao contrário dos tanques, a piscina estava cheia de Óleo de Medeia. Brilhava com o habitual verde tóxico, a superfície ligeiramente agitada, como se escondesse uma qualquer surpresa desagradável no fundo. Não havia maneira de determinar a profundidade da piscina, porém, tendo em conta o tamanho de tudo o que haviam visto antes, Gray suspeitava que não fosse inferior à altura dos Titãs.
Mac estudou o espaço com um olhar analítico.
— Será isto o depósito que alimenta a cidade?
— O verdadeiro coração do Tártaro — disse Bailey.
Mac apontou para uma roda de bronze na parede para lá da piscina.
— Aquilo pode ser a válvula que corta o fornecimento.
Gray inclinou-se e encostou o rosto e as duas mãos ao vidro.
— Hunayn disse que foi aqui que descobriu uma forma de adormecer o Tártaro. Se aquela válvula cortar o fornecimento de óleo, as criaturas acabarão por consumir aquele que receberam.
— E desligar-se-ão — disse Mac.
— Adormecendo outra vez — acrescentou Maria.
Mac anuiu.
— Vi isso acontecer com os caranguejos na Gronelândia, mas não com o touro, que calculo tivesse uma autonomia maior.
— Mas como podemos ter a certeza de que aquilo desliga alguma coisa? — perguntou Maria.
Gray apontou para o chão por baixo da válvula, onde se encontrava um esqueleto humano.
— Algo me diz que aquilo são os restos mortais de Abd al-Qadir, o homem que deu a vida para salvar os companheiros. Hunayn deve ter deixado o corpo dele para servir de aviso a quem viesse a seguir.
Seichan também decidiu espreitar.
— Não sei se repararam — disse —, mas há qualquer coisa no lado esquerdo da parede, junto à válvula.
Gray espreitou outra vez. Havia realmente outro dispositivo na parede. Não só parecia mais recente, como era feito de ouro. Mesmo à distância, Gray identificou a forma circular, um disco com cerca de sessenta centímetros de diâmetro, de aspeto semelhante ao astrolábio. A autoria era fácil de reconhecer, bem como o propósito.
— O hipotético sistema de segurança de Hunayn — disse, virando-se para o grupo. — Se desligarmos a válvula, aposto que aquilo ativará o derradeiro final que ele menciona na mensagem.
Kowalski franziu o sobrolho.
— Posto de outro modo, de uma forma ou de outra, estamos condenados.
Gray virou as costas à porta e fitou a vastidão da caverna cheia de vapor, que ardia com enxofre e o fogo de Prometeu. Observou os colossais titãs e visualizou as criaturas que aguardavam o grupo nas sombras da cidade. Pensou nas vidas perdidas por causa daquele segredo e nos que sofreram por causa daquilo tudo.
Hunayn estava certo.
Isto tem de acabar aqui.
Virou-se outra vez para a porta.
— Seja qual for o perigo, temos de ir ali.
19h44
De braços cruzados, Maria manteve-se bem atrás enquanto Joe abria a pesada porta de bronze. Ele teve de usar toda a sua força, mas conseguiu abri-la uns bons centímetros.
Mac avançou e enfiou o contador Geiger pela ranhura. O dispositivo começou imediatamente a crepitar. Apesar de se encontrar a uns passos de distância, Maria viu as luzes no mostrador tornarem-se vermelhas. Os números da escala subiram até se fixarem entre os algarismos noventa e cem.
Mac recolheu o braço.
— Fecha essa porcaria! Fecha-a!
Joe encostou o ombro à porta e fechou-a.
— É assim tão mau? — perguntou.
Mac ficara pálido.
— É como esperava... com aquela quantidade de óleo...
Gray agarrou-lhe no braço.
— Diz-nos!
— Quase cem sieverts... — disse Mac. Como ninguém pareceu compreender o que isso significava, ele encarregou-se de explicar. — Em Chernobil, o pessoal na sala de controlo da central sofreu uma exposição de trezentos sieverts. Posto de outro modo, receberam uma dose mortal de radiação em menos de dois minutos.
Maria sentiu um nó no estômago. Aproximou-se da porta e fitou a pilha de ossos através da janela.
— Já sabemos como morreu aquele desgraçado. De exposição à radiação.
Mac anuiu.
— E parece que a única forma de desligarmos a cidade é alguém atravessar aquela piscina e rodar a válvula manualmente. Escusado será dizer que se trata de um mergulho fatal. Na verdade, nem sei se alguém consegue atravessar a piscina sem morrer antes de chegar ao outro lado.
— O preço de Caronte — disse Gray, citando a mensagem de Hunayn.
— Alguém teria de dar a vida pelos outros — constatou Mac. — É o cenário que temos.
Durante uns minutos, foram discutidas opções, como construírem uma jangada ou esticarem uma corda, mas todos sabiam que estavam apenas a adiar o inevitável.
Joe ergueu um braço.
— Chega de conversa. Eu vou.
Maria puxou-lhe o braço para baixo.
— Não sejas estúpido.
— Se não me engano, é uma das características pela qual sou conhecido. — Joe virou-se para o grupo. — Sabemos que alguém tem de o fazer. O Gray e a Seichan têm um bebé. O Mac tem um braço aleijado. Tu és demasiado pequena, Maria, acho que morrias antes de pôr um pé na piscina.
— Eu posso ir — disse Bailey, que se encontrava junto ao tanque grande cheio de óleo negro. — Acho que isto está aqui para mergulharmos o corpo no óleo, o que deverá oferecer alguma proteção para a travessia.
Joe foi ao encontro dele.
— Padre, agradeço a sua oferta, mas a verdade é que não é muito maior que a Maria, e não me peça para enviar um padreco para fazer o trabalho de um homem.
Bailey pareceu ficar ofendido com aquelas palavras, mas Joe limitou-se a afastá-lo da porta.
— Além disso — prosseguiu Joe —, o padre sabe tudo o que há a saber sobre o que se passa aqui. Para mim, isto é tudo grego.
Gray avançou, pronto para intervir.
Joe não lhe deu hipótese de abrir a boca.
— Tu sabes que tenho razão.
Maria correu para ele e abraçou-o.
— Não faças isto. Podemos arriscar-nos lá fora e...
— E fazemos o quê? — perguntou Joe. — O tempo que demoraríamos a procurar outra saída, se é que existe, seria provavelmente o suficiente para morrermos todos. Alguém tem de entrar ali e desligar o raio da cidade.
Ele desfez o abraço e virou-se na direção do tanque grande, já a preparar-se para se despir e mergulhar no óleo negro.
— Não tire a roupa — sugeriu Bailey. — Quanto maior a camada de óleo em cima do corpo, maior a proteção. Sugiro até que enrole um lenço à volta do rosto e da cabeça.
— E como é que vejo?
— Não vê — admitiu Bailey. — Terá de nadar às cegas. Em todo o caso, é sempre a direito. Se acha que não consegue, eu...
— Eu consigo — garantiu Joe.
Gray tirou um par de luvas da mochila e entregou-o a Joe.
— Cobre também as mãos, já agora.
Joe equipou-se como podia e entrou no tanque. Submergiu completamente e ali ficou, a esfregar o óleo pelo corpo todo. A ideia era cobrir cada poro, ensopar bem a roupa, as botas.
Maria susteve a respiração enquanto ele se banhava. Interrogou-se se aquilo era o destino a castigá-la por ter duvidado dos seus sentimentos por Joe, por ter posto em causa o futuro dos dois enquanto casal.
Estará Deus a castigar-me?
Bailey aproximou-se.
— Pode ser que ele fique bem. Se calhar, o homem de Hunayn não se cobriu como devia.
Maria agarrou-se a essa ideia.
— E quero que saiba que vou rezar por ele — acrescentou o padre.
Eu também.
Joe emergiu finalmente e saiu do tanque, coberto de óleo da cabeça aos pés. Bailey ensopou um lenço e preparou-se para lhe enrolar a cabeça como uma múmia.
— Ainda não — disse Gray, que observava o tanque mais pequeno. — Alguém percebeu para que serve este tanque? Mal cabe um cão aqui dentro, quanto mais uma pessoa.
Bailey franziu o sobrolho, incapaz de responder.
Gray fitou o padre.
— Numa das histórias que nos contou, disse-nos que a feiticeira Medeia, antes de uma batalha, dava a beber a Jasão a sua poção, o que o tornava invulnerável às setas e lanças inimigas.
Bailey arregalou os olhos.
— Isso! — exclamou. Virou-se para Joe. — Não acredito que Hunayn não se tenha lembrado de uma coisa dessas!
Joe lançou um olhar confuso ao padre.
— Não estou a perceber...
Maria encarregou-se de responder, subitamente mais animada. Apontou para o tanque pequeno.
— Aquilo é uma fonte. Serve para beberes o óleo.
— O que reforçará a proteção — disse Bailey. — Por dentro e por fora.
Gray observou o óleo.
— Se calhar, este óleo contém iodo, que sabemos ser uma proteção contra a radiação.
Maria não queria saber como é que o óleo podia funcionar, apenas se funcionava.
Joe lançou um olhar enojado ao tanque.
— Se querem que vos diga, começo a ter dúvidas acerca de tudo isto.
44
26 de junho, 19h58 WEST
Montanhas do Alto Atlas, Marrocos
Onde anda o tal barqueiro quando um tipo precisa dele?
Completamente cego, Kowalski ouviu a porta de bronze fechar-se atrás de si com um estrondo que parecia selar o seu destino. Avançou uma perna, à procura do chão, e lentamente começou a deslocar-se pelo patamar de bronze. A ponta da bota encontrou finalmente a borda da piscina.
Respirou fundo, com o lenço ensopado colado à boca e ao nariz, o que o fez sentir-se subitamente claustrofóbico. Teve vontade de o arrancar, mas sabia que não era boa ideia. Mesmo vendado, manteve os olhos bem fechados, tentando proteger cada milímetro de si.
Aproximou-se mais da beira daquele caldo tóxico. Podia jurar que sentia a radiação subir em ondas de calor.
Tinha o estômago às voltas, tanto de medo pelo que ia fazer, como pela quantidade de óleo que os outros o obrigaram a beber. Aquela mistela viscosa sabia a carvão, embora estranhamente doce, e por pouco não vomitara.
Sentou-se na beira da piscina e mergulhou os pés no caldo tóxico. Era quente, de uma forma desconfortável e, sobretudo, preocupante.
Se a radiação não me matar, sou capaz de chegar ao outro lado cozido como um ovo.
Ainda assim, contra todos os instintos, deixou-se deslizar para dentro da piscina, tendo o cuidado de manter a cabeça à tona. Sabia que quanto mais tempo ali permanecesse, pior. Encheu os pulmões, pressionou os pés contra a parede e impulsionou-se para a frente. Deslizou por aquele mar brilhante, com braçadas amplas e controladas. Nadar naquelas condições era mais difícil do que pensara. A roupa pesava-lhe, as botas pareciam duas âncoras. Por outro lado, o óleo era bastante mais denso do que a água, o que tornava mais fácil flutuar.
Sou uma gigantesca gota de água a flutuar nesta poça de óleo mortífero.
Continuou a nadar. Decorrido um minuto, perdera qualquer noção de quanto avançara ou de quanto faltava para chegar ao outro lado. O medo deixou-o novamente nauseado. A dor de cabeça que sentia desde que entrara na galeria aumentou de intensidade, ampliando a náusea a ponto de lhe fazer arder o peito.
Não vomites...
Nadou mais depressa. Uma vaga de tonturas virou-lhe o estômago do avesso, juntamente com o mundo. A dada altura, parecia-lhe que nadava invertido. Bateu os braços e os pés sentindo tudo a andar à volta e um pânico crescente de se afogar a qualquer instante. A desorientação era cada vez maior e já nem tinha a certeza se nadava na direção certa. Imaginou-se a nadar aos círculos, até a exaustão o puxar para o fundo da piscina.
Percebeu que perdia rapidamente as forças.
Aguenta-te.
Mas sabia o que estava a acontecer. Mac explicara-lhe. A radiação pode matar em minutos. E enumerara os sinais de aviso. Náusea, desorientação, dor de cabeça.
Confere, confere, confere.
Nadou mais depressa, esperando que fosse da sua cabeça, que não passasse de paranoia psicossomática ou algo semelhante. E convencer-se disso? Deu consigo a imaginar Maria a rir-se de uma qualquer piada, a franzir o sobrolho perante uma das parvoíces que ele habitualmente fazia, e que não eram poucas. Lembrou-se do toque dela durante a noite, do cheiro da pele, do cabelo. Recordou a última noite que tinham passado juntos em Agadir, a sensação de se afundar no calor dela, o sopro morno da respiração dela no seu pescoço.
Maria era o farol que o guiava na escuridão.
Continuou a nadar, a respiração ofegante. Faria tudo o que fosse preciso para a manter em segurança, incluindo atravessar um mar radioativo.
Consigo fazer isto... por ti.
Foi então que algo lhe agarrou um tornozelo e o puxou para o fundo.
20h03
Maria bateu com os punhos na porta de bronze. Com a testa colada ao vidro quente, procurou um sinal na superfície brilhante da piscina, onde, mais ou menos a meio da travessia, vira Joe debater-se e desaparecer.
Gray também tinha visto e estava debruçado sobre o tanque pequeno a beber o óleo negro. Ele e Bailey já tinham mergulhado no tanque grande, a fim de se protegerem da radiação quando abriram a porta a Joe.
Ao que parecia, Gray preparava agora uma operação de resgate.
Maria bloqueou-lhe a passagem quando ele se virou na direção da porta.
— Não! O plano não era esse!
Gray lançou-lhe um olhar determinado.
Maria não arredou pé e manteve-se firme.
Bailey agarrou no ombro de Gray, a própria Seichan juntou-se a Maria, apoiando-a. Todos haviam concordado que só tentariam aquilo uma vez, mais ninguém entraria na piscina.
— O Joe consegue! — exclamou Maria. — Isto não acabou!
Gray cerrou os punhos.
Maria virou-lhe as costas e deixou que os outros lidassem com a obstinação dele.
Espreitou outra vez pelo vidro.
Não me deixes mal, Joe. Sei que tu és capaz.
20h04
Kowalski debateu-se no óleo, tentando suster a respiração, esforçando-se por manter a boca fechada. Enquanto era puxado para o fundo, dobrou-se e agarrou na ponta do tentáculo de metal enrolado à volta da bota. Lutou para se libertar, mas era inútil.
Não vale a pena.
Largou o tentáculo e desapertou os atacadores. Empurrou a bota desapertada com o outro pé, depois com as mãos. Contorceu-se e lutou quanto lhe era possível. Felizmente, o interior da bota encontrava-se bem oleado. Sentiu o pé deslizar e a bota foi arrastada para o fundo.
Bateu as pernas e os braços na direção contrária, desesperado por alcançar a superfície.
Emergiu finalmente. Arrancou o lenço que lhe cobria o rosto e a cabeça, já meio solto. Qualquer proteção que o tecido pudesse oferecer esfumara-se. O mal estava feito.
Abriu os olhos, sabendo que precisava de se orientar, e nadou para a borda. O brilho da piscina fazia-lhe doer os olhos, sobretudo depois dos minutos de escuridão, ou talvez fosse a radiação a queimar-lhe a vista. Naquele momento, pouco lhe interessava que fosse uma coisa ou outra.
Talvez o óleo que ainda o cobria do banho no tanque fosse suficiente, talvez a poção que bebera na fonte resultasse...
Ouviu um chapinhar forte nas costas.
Olhou por cima do ombro e viu um emaranhado de tentáculos rasgar a superfície. A bota roubada foi atirada pelo ar, bateu no teto e voltou a cair na piscina. Os tentáculos de bronze estenderam-se na sua direção.
Nadou mais depressa, com o coração a mil e suprimindo o vómito que lhe subia na garganta, sentindo a piscina a andar à roda. Já não se preocupava em nadar de bruços com a cabeça à tona. Em vez disso, enfiara o rosto no óleo verde e nadava em estilo livre.
Manteve o rosto afundado e susteve a respiração enquanto atacava o resto da distância com braçadas vigorosas.
Sentiu que a borda estava próxima e espreitou.
Mais dois metros.
Um tentáculo tocou-lhe no pé descalço. Suprimiu um grito e lançou-se para a frente. Lançou as mãos à borda, elevou-se e deslizou pelo patamar de bronze, à semelhança de uma foca num bloco de gelo, chocando contra o esqueleto junto à parede.
Na piscina, uma onda avançou na sua direção, empurrada pelo emaranhado de tentáculos. Kowalski cerrou os dentes, contando ser agarrado e puxado de novo para a piscina. Em vez disso, os tentáculos esticaram-se com as pontas a dançar no limiar da borda, o máximo onde conseguiam chegar. Com a presa fora de alcance, a criatura mergulhou novamente para as profundezas da piscina.
Kowalski agarrou a roda de bronze e levantou-se com as pernas a tremer. Num gesto de raiva, ergueu o dedo médio na direção da piscina e depois usou as forças que lhe restavam para acionar a válvula. Os braços tremeram do esforço, a visão estreitou-se. Por fim, ouviu um baque metálico e a roda vibrou. Deixara de girar.
Espero que seja o suficiente.
Se não fosse, não tinha força para mais.
Ainda com uma mão agarrada à roda, rodou sobre si mesmo e deixou-se cair sentado contra a parede. Aterrou em cima das ossadas, mas não se importou. Largou a roda e a mão caiu ao lado do crânio do esqueleto. Deu-lhe uma palmadinha.
Pois é, companheiro, já não estás sozinho...
Enquanto recuperava o fôlego, a parede inteira estremeceu. Olhou para cima, na direção do dispositivo de ouro. Havia canos que desciam do dispositivo e atravessavam o patamar de bronze, para depois desaparecerem na piscina. Um enorme disco dourado acima dele começou a girar, um grau de cada vez, como o ponteiro de um relógio.
Isto não pode ser bom.
Um movimento desviou a sua atenção para a piscina. De ambos os lados da galeria, com o auxílio de correntes, placas maciças de bronze desceram das paredes como pontes levadiças, até se encontrarem no meio, cobrindo a piscina.
Kowalski alternou o olhar entre o patamar onde estava sentado e o outro junto à porta.
Encostou a cabeça à parede, suspirando.
Não podiam ter feito isto antes?
20h07
— Qual é o valor? — perguntou Gray a Mac.
O climatologista retirou o braço que estendera pela brecha da porta e olhou para o mostrador do contador Geiger.
— Com a piscina coberta, os valores desceram noventa por cento. Continua a ser muito, mas é seguro se for rápido. — Acenou na direção da roupa de Gray, ensopada em óleo negro. — E esta proteção adicional deve ajudar.
Gray anuiu e virou-se para os outros.
— Afastem-se.
Bailey deu um passo em frente.
— Também vou. Vai precisar de ajuda para trazer o Joe. — O padre baixou o tom de voz, para que Maria não o ouvisse. — Ele não parece nada bem.
Gray não tentou demovê-lo, até porque o padre se encontrava coberto de óleo.
— Vamos.
Gray abriu a porta o suficiente para os dois passarem e fechou-a de imediato. No outro lado da piscina, Kowalski apercebeu-se da chegada dos companheiros e acenou com um braço, que logo deixou cair.
Gray correu para o amigo com as botas a martelarem nas placas de bronze. Bailey seguiu atrás. Quando os dois chegaram ao pé de Kowalski, o padre ajoelhou-se ao lado dele, como se preparasse para lhe dar a extrema-unção, mas Kowalski não era homem de se deixar vencer sem luta.
Virou a cabeça na direção do dispositivo na parede.
— Agora, tratem do resto — disse.
Gray anuiu e fitou o disco dourado de Hunayn. Observou as inscrições em árabe e virou-se para Bailey.
— Consegue ler isto?
Bailey ajudou Kowalski a levantar-se e semicerrou os olhos na direção do disco, inclinando a cabeça para ler a inscrição à medida que ia rodando.
— Concedo-te o tempo necessário para uma última oração, para que Alá te aceite na sua eterna misericórdia...
Pelo ritmo da rotação, Gray calculara já quanto tempo o disco demoraria a completar uma volta completa, assinalada por uma marca prateada no mostrador dourado.
Menos de quinze minutos.
Gray desviou a atenção para uma grande caixa dourada por baixo do disco. Interrogou-se se poderia desarmar o aparelho, à semelhança de uma bomba. Claro que, para isso, precisava de abrir a caixa. Procurou de ambos os lados uma patilha ou qualquer outra coisa que permitisse tirar a tampa, mas não encontrou nada. Agarrou nas pontas e experimentou levantar a caixa. Conseguiu erguê-la um pouco.
Não devia tê-lo feito.
Apoiado em Bailey, o próprio Kowalski apercebeu-se disso e resmungou.
O disco girou um terço completo, roubando-lhes a mesma quantidade de tempo de uma assentada. Gray afastou-se da caixa, amaldiçoando a esperteza de Hunayn, que devia ter armadilhado o dispositivo contra qualquer tentativa de desativação.
— Ficámos com quanto tempo? — perguntou Bailey.
Gray apontou na direção da porta.
— Menos de dez minutos.
45
26 de junho, 20h08 WEST
Montanhas do Alto Atlas, Marrocos
Elena fugiu pela floresta em chamas.
Atrás dela, os cedros explodiam como tochas gigantescas. O fumo quente obscurecia tudo à volta. As chamas rugiam ferozes. Continuou a correr aos tropeções, desesperada por encontrar um refúgio, uma saída. Os olhos lacrimejavam, a respiração pesava-lhe.
Charlie apertava-lhe a mão e acompanhava-a a par e passo. Tinha o rosto transpirado e enfarruscado. Lágrimas corriam-lhe pelas faces, provavelmente apenas por causa do fumo.
— Por aqui! — disse ela, arrastando-a para onde o fumo parecia menos espesso e a floresta mais cerrada.
Elena tropeçou e lutou para acompanhar a jovem.
Não vou conseguir.
Subitamente, as árvores desapareceram de ambos os lados. O Sol, ainda obscurecido pelo manto de fumo, brilhou com mais intensidade.
Elena olhou em volta, reconhecendo onde estava.
Oh, não.
Olhou para cima, para a parede rochosa e a entrada da caverna. Aquela era a caverna onde o grupo desaparecera, sabe-se lá para onde.
Abrandou o passo. Não lhe parecia boa ideia.
Charlie não lhe deu escolha e apertou-lhe a mão com mais força.
— Temos de nos esconder.
Embora contra vontade, Elena percebeu que Charlie estava certa. Com a floresta pelas costas e o rio certamente vigiado, precisavam de um esconderijo. Quanto mais não fosse para poderem pensar numa forma de saírem daquele sarilho.
Ao alcançar a parede, Charlie largou-lhe a mão e começou a trepar a rocha, que imediatamente explodiu com uma saraivada de balas um pouco acima da sua cabeça.
Charlie encolheu-se e saltou para o chão, juntando-se novamente a Elena. As duas viraram-se com as costas para a parede. A um canto da floresta em chamas, do lado do rio onde se encontrava ancorado o barco de Charlie, Kadir avançou como uma sombra negra de arma em riste.
Depois de as encurralar, avançava agora para a matança.
Charlie ainda tentou dar um passo na direção da floresta, mas Kadir disparou-lhe para os pés, forçando-a a recuar. O gigante continuou a avançar para as duas, encurtando a distância, tornando a fuga cada vez mais impossível.
Uma segunda figura materializou-se mais ao fundo.
Monsenhor Roe cambaleava atrás de Kadir. Provavelmente seguira-o desde o barco. Trazia uma ligadura ensanguentada em volta da coxa, assinalando o sítio onde Charlie o alvejara durante a fuga. O rosto exibia uma expressão rancorosa. Os olhos brilhavam de dor e de raiva.
Kadir deteve-se à frente das duas, com as costas viradas para a floresta.
— Mata-as! — gritou Roe, mais atrás.
Sem um pingo de emoção no rosto, Kadir limitou-se a centrar a mira da espingarda no peito de Charlie e premiu o gatilho.
20h09
Nehir escondeu-se atrás de uma casa térrea, junto à escadaria dourada que conduzia ao palácio. No outro lado dos degraus, Ahmad e o último dos Filhos fizeram o mesmo. Tinham demorado uma eternidade a atravessar a cidade, caminhando cautelosamente ao abrigo das sombras, evitando as ferozes criaturas que encontravam pelo caminho.
Em todo o caso, Alá recompensara a cautela.
Inclinou-se o suficiente para ter um vislumbre da fachada do palácio, trinta metros mais acima. Não se atrevia a chegar-se mais perto. Havia criaturas lá em cima, deslocando-se envoltas em fumo e chamas. Uma gigantesca aranha, maior do que um autocarro, rondava os portões do palácio, as suas longas e esqueléticas patas alternando por cima dos irmãos de bronze. Uma figura mais pequena, um guerreiro humanoide com um capacete, aproximou-se do cimo das escadas.
Nehir rezou para que ele não descesse.
Alá atendeu novamente o seu pedido. O guerreiro deu meia-volta e voltou a desaparecer no meio do fumo.
Nas suas costas, Nehir ouviu o que lhe parecia ser um riso abafado, embora não tivesse realmente a certeza se ouvira alguma coisa. Ainda assim, sentiu os pelos da nuca eriçarem-se. Encolheu-se e olhou por cima do ombro. Nada. Olhou na direção de Ahmad, que mantinha os olhos postos no palácio. Era óbvio que ele não ouvira nada. Abanou a cabeça e esfregou o ouvido, que ainda zunia devido aos tiros e às explosões.
Baixou a mão.
Deixa-te de coisas...
Focou-se novamente no objetivo. Precisava de entrar naquele palácio, quer para seguir o inimigo até uma hipotética saída, quer para se vingar. Se conseguisse fazer as duas coisas, tanto melhor.
Apertou os dedos em torno da arma e fez sinal a Ahmad. O tenente virou-se e segredou ao ouvido do soldado atrás dele. O outro anuiu e deu um passo atrás, com uma granada na mão. Recuou o suficiente para conseguir espaço para lançar a granada, mas não na direção do palácio. A ideia era usarem a explosão para atraírem as criaturas que estavam junto aos portões.
O soldado olhou para ela, à espera de autorização.
Ela acenou com a cabeça.
O soldado esticou o braço e depois gritou.
Alguma coisa escondida atrás dele saltara com uma explosão de chamas e abocanhara-lhe o braço inteiro, arrancando-o pelo ombro. Um esguicho de sangue cortou o ar enquanto o seu corpo caía para a frente, revelando a forma de um cão preto.
Ahmad tentou fugir.
Menos com medo do cão do que...
A granada deflagrou. A cabeça do cão explodiu em pedaços. Fragmentos de bronze e da granada atingiram as costas do tenente. Apesar de ferido e atarantado, o colete tático protegera-o do pior da explosão. De joelhos e mãos no chão, ele tentou subir os degraus.
Nehir recuou, horrorizada.
Ahmad apercebeu-se da expressão dela e virou-se.
Atrás dele, o cão ergueu outras duas cabeças. Os olhos de diamante ardiam com um fogo interior, as bocas projetavam labaredas em lugar de línguas. Ali estava Cérbero, o monstruoso cão tricéfalo que guardava os portões do Tártaro. Um dos focinhos abocanhou Ahmad pela perna e ergueu-o no ar. O outro cravou-se no seu ombro. As duas cabeças sacudiram e rasgaram o tenente ao meio.
Por essa altura, Nehir embrenhara-se completamente nas sombras.
Virou-se e olhou para cima.
A ideia da granada não correra conforme planeado, mas a explosão fizera o trabalho pretendido. Atraídas pelo estrondo, as criaturas junto aos portões desceram as escadas.
Ela contornou-as.
O objetivo não mudara.
Com o caminho livre, correu pela escadaria acima.
20h10
Elena arquejou quando Kadir disparou contra Charlie.
Charlie desviou-se para o lado e chocou com ela. A rajada de três tiros retalhou a parede de pedra, projetando lascas afiadas contra as duas.
Elena agarrou na mão de Charlie e puxou-a para mais perto de si, ainda a tentar perceber o que acontecera.
Diante de ambas, Kadir mantinha a metralhadora apontada, o cano a fumegar. Observava-as com interesse, com a cabeça meio inclinada. Ele falhara os tiros de propósito, mas o rosto não exibia uma satisfação sádica pelo susto que lhes pregara, apenas a habitual ausência de emoção, como um gato que brincava calmamente com um rato encurralado.
Em todo o caso, havia de chegar a altura em que o gato matava o rato.
Kadir fez outra vez pontaria, nitidamente cansado da brincadeira.
Um raspar de metal e pedra desviou a atenção de todos para cima. Pelos vistos, mais alguém ouvira a barulhenta brincadeira de Kadir. Uma besta enorme saltou da caverna. Aterrou com um estrondo de bronze, fumo e chamas entre Elena e Kadir. O chão tremeu com o impacto. A criatura aterrou agachada, as patas anteriores recolhidas e os quadris elevados. Uma longa cauda agitou-se no ar com uma chuva de detritos.
Kadir abriu fogo, recuando em simultâneo para a floresta.
As balas resvalaram na armadura de bronze da besta.
Charlie e Elena deitaram-se no chão.
O cão titânico, que não surgira para brincar, não deixou Kadir fugir e abocanhou-o. Elevou-se sobre as patas traseiras e sacudiu a cabeça, lançando Kadir pelo ar. O irmão de Nehir rodopiou duas ou três vezes a sangrar. O cão rosnou, projetando um jato de chamas que queimou Kadir ainda antes de ele cair no chão.
Só então Kadir gritou.
O cão apanhou-o de novo e atirou-o na direção da floresta.
Em pânico, Charlie tentou correr também na direção das árvores, mas Elena agarrou-a pela mão e levou um dedo aos lábios.
Joe contara-lhe acerca da experiência de Mac.
Fica calada... não te mexas.
Havia mais alguém que não aprendera a lição.
Mais à frente, monsenhor Roe pôs-se em fuga. O cão virou-se na direção do movimento, do som da respiração aflita, e disparou em perseguição do padre. Roe tentou fugir-lhe a cambalear sobre a perna ferida, a olhar aterrorizado por cima do ombro.
O cão também não parecia estar nas melhores condições, porventura por causa do salto ou de qualquer outra coisa que acontecera na caverna. Elena recordou o ataque à caverna, o derrube dos portões à força de granadas. Estaria aquela criatura a guardar os portões no momento do ataque?
O cão arrastava uma das patas posteriores e debatia-se com um ombro danificado.
Elena endireitou-se e observou a lenta perseguição. Quem ganharia a corrida? A resposta chegou pouco depois. O cão esgotou a última réstia de energia e tombou de cabeça na margem do rio, com o pescoço esticado, a boca aberta. O corpo quente ainda fumegava, mas já não se mexia.
Roe virou-se para trás a saltitar, aliviado.
Foi então que uma derradeira convulsão sacudiu o corpo do cão. A boca aberta materializou um novo horror. Uma horda de caranguejos de bronze foi projetada como vómito. As criaturas incendiaram a margem, o rio, pegando fogo a si próprias.
Roe ficou petrificado.
A horda flamejante alcançou-o e trepou-lhe pelo corpo acima. As patas afiadas cravaram-se na carne, incendiaram-lhe as roupas. O padre rodou a esbracejar, coberto de bronze e chamas da cabeça aos pés.
Os seus gritos duraram mais do que os de Kadir.
Elena empurrou Charlie.
— Para o barco! Rápido!
Precisavam de alcançar a lancha enquanto as criaturas estavam distraídas. As duas correram ao longo da orla da floresta, usando o fumo e o rugir das chamas para passarem despercebidas.
Quando alcançaram o barco, Elena deteve-se e olhou para trás.
— O que foi? — perguntou Charlie.
— As chaves... — respondeu Elena, apontando na direção do padre. — Era ele que as tinha.
— Mon Dieu! — exclamou Charlie, subindo a bordo. — Não estavas à espera de que eu não tivesse um conjunto suplente, pois não? Que tipo de comandante pensas que sou?
Elena subiu atrás dela.
Uma comandante e peras, pensou.
46
26 de junho, 20h13 WEST
Montanhas do Alto Atlas, Marrocos
Seis minutos...
Para o plano resultar, Gray precisava de todos os segundos que conseguisse espremer.
O grupo alcançou a sala do trono a correr a toda a velocidade. O próprio Kowalski recuperara alguma força à conta da adrenalina, mas só um pouco. Mesmo assim, não largara a sua AA-12 e apertava-a como se a sua vida dependesse disso.
Maria acompanhava-o, bem como Mac.
Bailey acelerou o passo e juntou-se a Gray.
— Onde é que...
Alguém disparou contra eles, as balas resvalando no chão de pedra. Dez metros à direita, uma figura escondia-se numa passagem lateral com um joelho no chão e uma arma em riste.
Enquanto o grupo era obrigado a parar no meio da sala do trono, a figura — uma mulher — gritou-lhes:
— Onde é a saída? Digam-me!
Gray sabia que aquela pergunta era a única razão que impedira a mulher de os matar ali mesmo. Ela precisava tanto de encontrar uma saída como eles.
— Nehir... — rosnou Kowalski, erguendo a caçadeira.
Para o desencorajar, Nehir disparou de novo, desta vez apontando mais perto dos pés do grupo. Mac gritou e caiu no chão agarrado à perna. Uma bala fizera ricochete e acertara-lhe em cheio num pé.
Seichan aproveitou a distração para rodar e atirar Aggie na direção de Nehir. Apanhado de surpresa, o macaco guinchou e esbracejou. Igualmente desprevenida e nitidamente assustada pelo que já devia ter visto, Nehir tropeçou e caiu para trás a disparar contra o macaco, mas sem lhe acertar.
Kowalski pousou um joelho no chão e disparou uma rajada de cartuchos FRAG-12. As munições explosivas atingiram a passagem lateral, fazendo o espaço tremer e enchendo-o com fogo e fumo.
Ele avançou para se reposicionar, mas Gray foi atrás dele e lançou uma mão à caçadeira, impedindo-o de disparar de novo. Aquele era o último carregador e podiam precisar dele. Além disso, Seichan já estava em movimento.
De pistola na mão, ela atravessou a cortina de fumo. Olhou na direção do grupo e abanou a cabeça.
Nehir desaparecera.
Gray consultou o relógio. Cinco minutos. Não tinham tempo para perseguir a mulher. Olhou para Mac.
O climatologista contraiu o rosto.
— Consigo coxear.
Maria amparou-o pela cintura.
— Eu ajudo-o.
Gray apontou na direção da saída.
— Vamos.
Seichan deteve-se o suficiente para ir buscar Aggie. O macaco estava zangado e assustado. Ela estendeu-lhe um braço.
— Desculpa, pequenino — sussurrou no tom calmo que usava com Jack.
Aggie guinchou, ainda visivelmente irritado, mas saltou-lhe para o ombro e aninhou-se junto ao rosto dela.
Gray liderou o caminho, rezando para que ainda tivessem tempo suficiente.
— Para onde vamos? — insistiu Bailey.
Gray não podia perder segundos que não tinha e, em vez de explicações, limitou-se a apontar na direção dos tronos.
— A resposta está ali.
Espero eu.
20h14
Nehir arrastou a perna partida ao longo da passagem, deixando para trás um rasto de sangue. Parte do fémur rompera o tecido das calças. Manteve uma mão apoiada na parede e continuou a avançar pelo palácio, procurando a proteção das sombras para se esconder.
A única razão por que continuava viva era a combinação do instinto com o equipamento tático. Ela desviara-se a tempo de não ser atingida pelos tiros do americano, mas um dos cartuchos explodira demasiado perto e com força suficiente para lhe partir a perna. Tinha perdido a arma, mas a adrenalina manteve-a em movimento. Primeiro a rastejar, depois a coxear o melhor que podia.
Encontrou finalmente um sítio escuro para se deixar cair sentada. Não havia tochas a arder por perto. Ao longo da passagem, reparara que a maioria começava a apagar-se.
Não sabia porquê e também não lhe interessava.
Ficou sentada com as costas encostadas à parede, a apreciar a frescura da escuridão. Fechou os olhos e deixou cair a cabeça para trás. Desmaiou momentaneamente e foi despertada por um barulho. A passagem escurecera mais um pouco. O medo fez o seu coração bater mais depressa.
O ruído provinha das sombras densas mais à frente.
Uma espécie de riso abafado.
Não era a primeira vez que ouvia aquilo, acontecera o mesmo na cidade. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Concentrou-se na origem do riso.
O que...
Foi então que surgiu, materializando-se das sombras. A figura cintilante de um menino de bronze, caminhando com a cabeça meio inclinada. Arrastava uma perna, inútil como a dela. Fogo e fumo envolviam a sua silhueta. Os lábios esculpidos na forma de um sorriso eterno soltaram outra gargalhada.
O menino de bronze avançou direito a ela, porventura atraído pelo som da respiração pesada.
Quando estava prestes a tocar-lhe, ela tentou pontapeá-lo com a perna boa, mas as mãos de bronze escaldante agarraram-lhe o tornozelo. Ela gritou ao sentir o bronze queimar-lhe a carne através do kevlar das caneleiras. Continuou a pontapear até conseguir derrubar o menino, mas ele não a largou e simplesmente ficou caído no chão, ainda a dar às pernas. Depois, lentamente, à semelhança das tochas que se haviam apagado, e não sem antes se rir uma última vez, parou de se mexer.
Ela tentou soltar-se, e foi quando outro movimento a deixou petrificada.
Duas novas figuras emergiram da escuridão. Eram mais pequenas, mas as formas brilhavam mais quentes. Rastejaram na sua direção: dois bebés de bronze, um menino e uma menina.
Não...
Um gemido escapou-lhe da garganta. Tentou fugir, mas uma perna estava partida e a outra presa por dezenas de quilos de bronze. Encolheu-se contra a parede, desviando o rosto.
O primeiro bebé, o menino, alcançou-a e gatinhou pela perna partida acima. Cada toque queimava-lhe o tecido das calças e a pele. A menina foi direita ao colo dela, queimando-a da mesma maneira.
Ela abanou a cabeça em agonia, não por causa da dor, mas pelo que presenciava. Duas demoníacas versões de bronze dos bebés que perdera. Chorou e contorceu-se. Com algum esforço, talvez conseguisse afastá-los, mas deu consigo incapaz de o fazer.
Se é este o castigo de Alá... Se é tudo o que me é permitido...
Os bebés de bronze alcançaram-lhe o peito, derretendo o colete à prova de bala e queimando-lhe a pele, a carne e quem sabe o próprio coração.
Assim seja...
Ela levantou os braços e apertou os bebés contra o peito. A dor e o choque toldaram-lhe a visão. Olhou para baixo uma última vez, para os corpos pequeninos e suaves, e sentiu-os acalmarem e silenciarem-se.
Os meus bebés...
Abraçou-os até todos deixarem de se mexer.
47
26 de junho, 20h15 WEST
Montanhas do Alto Atlas, Marrocos
Quatro minutos...
Gray conduziu os outros pela escadaria dourada. Por toda a parte, a cidade escurecia à medida que as tochas se apagavam. Visualizou a válvula fechada, cortando o abastecimento de combustível, mas os perigos persistiam.
À medida que desciam as escadas, Kowalski disparou a caçadeira várias vezes, afastando do caminho tudo o que constituía uma ameaça; atingira um centauro, um cão, um leão. Contudo, os ataques das criaturas eram cada vez mais lentos e atabalhoados, um sinal de que perdiam a força.
Gray reparou que algumas tinham regressado aos pedestais, porventura seguindo instruções programadas ou simplesmente para se reabastecerem. Fosse uma coisa ou outra, não tinha tempo para continuar a interrogar-se sobre os mistérios ali presentes.
Na piscina, reparara nos canos que desciam do dispositivo de Hunayn e mergulhavam no óleo radioativo. Se aquela piscina explodisse, e tendo em conta a quantidade de óleo que ainda se encontraria nas tubagens que ligavam a cidade inteira, a destruição resultante podia ser uma coisa nunca vista.
Podia desfazer a montanha em estilhaços.
E não queremos estar aqui quando isso acontecer.
Gray encontrava-se já a escassos metros do fundo das escadas. Consultou o relógio.
Três minutos.
Bailey corria a par dele, seguido por Seichan e Maria, que praticamente carregavam Mac entre as duas. O climatologista contraía o rosto de dor, pálido pela perda de sangue e pelo choque.
Bailey olhou em volta e foi esperto o suficiente para decifrar o que Gray tinha em mente.
— Como é que espera que usemos esta saída?
— Qual saída? — perguntou Kowalski a arfar atrás de ambos com a arma apoiada na anca e ainda atento a ameaças.
— Aquela — respondeu Bailey, apontando para o remoinho no centro do lago. — Pela goela de Caríbdis.
Kowalski franziu o sobrolho.
— Já dei o meu mergulho diário e tenho a certeza de que não me apetece ser engolido por um ralo gigante.
— Repara no cheiro do lago — disse Gray. — É água salgada. Isto é apenas um sistema que faz circular a água do mar para a montanha, e vice-versa.
Mac ouviu a conversa. Certamente interessava-lhe mais do que estar focado na dor.
— Segundo uma leitura anterior que fiz com a bússola, esta caverna aponta de facto na direção do mar, mas estamos a falar de pelo menos um quilómetro e meio ou coisa que o valha.
Bailey lançou um olhar a Gray.
— Não estou a perceber como é que tenciona...
Alcançaram finalmente o fundo das escadas. Gray apontou para o círculo de peixes de bronze que decorava a borda do lago.
— Vamos usar os submarinos dos feácios.
20h16
Pronto, tinha de acontecer um dia... passou-se dos carretos.
Kowalski desceu o último degrau e estudou o anel de peixes. Centenas, todos posicionados num ângulo específico. Parecia que a qualquer momento podiam começar a lançar água, como uma fonte de Las Vegas.
Correu atrás de Gray.
— Porque é que achas que são submarinos?
— Como disse, os feácios não eram parvos. Nunca construiriam esta cidade se não tivessem um sistema de fuga.
Kowalski apontou na direção do remoinho.
— E achas que é aquilo?
— A lógica diz-me que a solução teria de estar acessível. E não vejo nenhum ponto da cidade mais acessível do que este.
— Sim, mas...
— Além disso, há a questão dos tronos. O estrado na sala do trono estava decorado com gravuras de peixes a nadar ao lado dos navios feácios.
Para provar a sua teoria, Gray conduziu os outros até um dos peixes de bronze. Era do tamanho de uma carrinha familiar, mas Gray encontrou uma espécie de degraus num dos flancos e subiu pela estátua acima.
Um movimento desviou a atenção de Kowalski para lá do peixe.
Caríbdis não era o único monstro grego ali presente.
No outro lado do lago, as seis cabeças de Cila viraram-se na direção de Gray, atraídas pelo movimento, pelo som das vozes ou simplesmente pela invasão de Gray aos seus domínios.
— Acho que aborreceste mais alguém além de mim! — avisou Kowalski.
Gray olhou para cima e viu uma das cabeças serpentear na sua direção.
— Subam! Rápido!
Kowalski pôs toda a gente em movimento.
Sim, mas para onde?
20h17
Dois minutos...
Empoleirado no peixe de bronze, Gray descobriu uma alavanca ao longo do dorso com a ponta apontada na direção da cauda. Não perdeu tempo e empurrou-a para a frente. Ouviu-se um sopro pressurizado e a barbatana dorsal do peixe levantou-se como uma tampa, revelando tratar-se de uma escotilha. Gray levantou-a na totalidade.
Mac subiu e espreitou por cima do seu ombro com os olhos arregalados.
— Lá para dentro! — ordenou Gray.
Mac balançou as pernas para uma escada no interior e desceu, aterrando em baixo com um gemido de dor. Maria foi a segunda a descer, seguida por Bailey e Seichan, que ainda trazia o macaco ao ombro.
— Despacha-te! — gritou Gray para Kowalski.
Kowalski trepou pelo peixe com a AA-12 pendurada ao ombro. Quando chegou lá acima, olhou por cima do ombro de Gray e arregalou os olhos.
— Baixa-te! — gritou para Gray, levantando a arma.
Gray tentou impedi-lo, mas Kowalski premiu o gatilho e despejou uma rajada de tiros. Os cartuchos explodiram do outro lado do lago.
Gray cerrou os dentes e olhou para trás.
Uma das cabeças de Cila estava caída junto à água, o maxilar inferior desfeito. Chamas escapavam dos estragos no metal e pelas junções das escamas. O longo pescoço contorceu-se, espalhando mais fogo quando recolheu a cabeça rebentada.
— Mexe-me esse rabo e entra! — ordenou Gray.
Kowalski obedeceu, nitidamente sem perceber a asneira que fizera.
Gray desceu atrás dele, detendo-se um instante a meio da escada.
No outro lado do lago, as cinco cabeças restantes de Cila sacudiram-se furiosas, envoltas em fumo e fogo. Ato contínuo, o monstro entrou no lago.
Merda.
Gray fechou a escotilha, trancou-a e deslizou pela escada. Os companheiros já se encontravam sentados em assentos de bronze de ambos os lados da barriga do peixe. Gray encaminhou-se na direção do nariz, lançando olhares irritados a Kowalski.
— O que foi? — perguntou o outro.
— Cila é um guardião! — explicou Gray. — Está aqui no lago para proteger a população durante uma fuga. Se não for provocado, não ataca.
— E como é que eu podia saber isso?
— Pensa antes de disparares!
— E qual era a graça, sabes dizer?
Gray chegou à parte da frente do submarino, onde Bailey ocupava um dos dois assentos de bronze.
O padre virou-se.
— Segundo Homero, os navios dos feácios eram autoguiados. — Apontou para o que parecia ser o único controlo disponível, uma manete de bronze. — Penso que isto deve ser...
Apesar do que Gray dissera um segundo antes, aquela não era altura para pensar. Sentou-se no outro assento e puxou a manete para baixo.
O peixe balançou para a frente, baixou o nariz e deslizou para o lago. O impacto foi violento, mas ninguém caiu.
Kowalski endireitou-se.
— Nem foi assim tão mau.
Assim que a água entrou em contacto com o óleo verde, houve uma explosão de fogo. O peixe disparou pelo lago com um rasto de chamas, atirando todos contra os assentos.
Gray lutou para se inclinar para a frente e, pelos dois olhos do peixe, feitos de vidro ou cristal polido, viu as patas do monstro que avançava pelo lago. Susteve a respiração quando o pequeno submarino navegou pelo meio delas, trazendo-lhe à memória as palavras do padre.
Autoguiado.
No segundo seguinte, encontravam-se já à mercê do vórtice. O remoinho apanhou o submarino e fê-lo girar à volta do lago, cada vez mais depressa, cada volta mais curta do que a anterior. No meio da vertigem, Gray vislumbrou uma das cabeças flamejantes, que os procurava nas profundezas.
— Sempre tive curiosidade em saber o que sente um peixinho despejado pela sanita abaixo! — gritou Kowalski.
Não vais ter de esperar muito tempo.
O submarino baixou o nariz.
Gray lançou as mãos às paredes para se segurar e descobriu uma pega num dos lados.
— Agarrem-se!
O submarino inclinou-se mais um pouco e mergulhou a pique pelo remoinho no centro do lago.
Uma escuridão absoluta envolveu-os. Tornou-se impossível distinguir a superfície do fundo, em especial quando o peixe começou a rolar para trás e para a frente, por vezes dando uma volta completa sobre si mesmo.
— Vejo luz à frente! — gritou Bailey por cima do ruído da água.
Gray também a viu através dos olhos do peixe. Uma ténue claridade ao longe. Suspirou de alívio. Vamos conse...
O que aconteceu a seguir apanhou toda a gente de surpresa.
Uma força imensa atingiu a popa do submarino, empurrando-o com violência para a frente, fazendo-o rodopiar, atirando-os uns contra os outros no interior. Pior que isso, começou a chocar repetidamente contra as paredes rochosas com um som semelhante ao de um sino a tocar.
Abriu-se uma fenda no casco e o submarino começou a meter água.
Enquanto lutava para se manter no lugar, Gray imaginou o que teria acontecido. Lá atrás, a cidade devia ter explodido, uma detonação violenta o suficiente para empurrar toda a água naquele túnel, como se Zeus soprasse por uma palhinha.
A claridade continuou a aumentar, filtrada pela água e pelos olhos do peixe. Os impactos e as sacudidelas foram substituídos por um deslizar suave e ascendente. A quantidade de água que entrava através da fenda diminuiu. No segundo seguinte, o nariz do submarino rompeu a superfície. A luz do dia invadiu finalmente a cabina. Flutuavam agora no mar.
Gray recostou-se e suspirou.
O peixe escapara do Tártaro.
Em silêncio, Gray agradeceu aos deuses e olhou para os companheiros. Não havia ninguém que não estivesse maltratado, mas tinham sobrevivido.
— E que tal um pouco de ar fresco? — sugeriu Kowalski. — Ainda sou capaz de vomitar aqui dentro.
Gray levantou-se e encaminhou-se para a escada. Subiu-a e abriu a escotilha. Luz e ar fresco inundaram o espaço.
— Está na hora de abandonar o barco — disse, pegando no telefone satélite. — Vamos ver se consigo alguém para nos ajudar.
Gray subiu para o dorso do peixe, dando-lhe uma palmadinha, como se montasse um cavalo selvagem em alto mar. Ligou para o comandante Pullman, a forma mais rápida de alguém os tirar dali.
Enquanto a chamada era encaminhada por canais encriptados, um avião cinzento sobrevoou o submarino a baixa altitude. Gray olhou para cima, reconhecendo-o. O Poseidon de Pullman. Encontrava-se ali mesmo, como que convocado pela força do pensamento.
O avião levantou o nariz e largou um enorme tubo preto suspenso por um paraquedas vermelho.
Gray reconheceu a arma.
Um torpedo Mark 54.
Desviou o olhar para a extensão de mar adiante, localizando imediatamente o alvo. O único navio a navegar naquelas águas era um gigantesco catamarã.
A voz de Pullman fez-se ouvir no telefone, o tom urgente.
— Comandante Pierce?
— O que estão a fazer? — perguntou Gray.
— A resolver um problema.
— Estou a ver que sim, mas porquê?
— É uma longa história. Em todo o caso, pediram-me para vos transmitir que a Elena Cargill vos manda cumprimentos. E a Charlie Izem quer saber se ainda têm o macaco dela?
Gray esforçou-se por retirar sentido do que ouvia.
— Não sei se percebi mal a última parte — admitiu Pullman. — A mensagem foi-me transmitida pelo diretor Crowe e chegou a ele através de uma comunicação via rádio de uma lancha ancorada num rio qualquer.
Gray começou finalmente a juntar as peças do puzzle. Charlie devia ter escapado, pediu ajuda e salvou Elena no processo. Essa era a história que queria ouvir, mas podia ouvi-la mais tarde.
— E aquele catamarã? — perguntou.
— Os maus da fita, segundo a doutora Cargill. É tudo o que preciso de saber.
Gray viu o torpedo cair na água e disparar na direção do navio em fuga. Atingiu-o em cheio num dos flutuadores, arrancando-o. À velocidade a que se deslocava, perto de trinta nós, o catamarã deslizou inclinado para um dos lados e tombou com estrondo.
Uma frota da marinha marroquina encontrava-se já a caminho.
Pullman desligou, não sem antes fixar as coordenadas do telefone satélite de Gray.
Gray desviou o olhar na direção da costa montanhosa. Uma densa nuvem de poeira e cinza revoluteava no céu poente. Embora aquilo não fosse um vulcão, fazia justiça ao rubi no mapa dourado.
No passado, a fim de proteger a época em que vivia — um tempo de cruzadas e guerras santas —, Hunayn tentara a todo o custo esconder a localização do Tártaro, os horrores ali presentes. Parecia que a história estava condenada a repetir-se, a equilibrar-se precariamente à beira do Armagedão. Infelizmente, e com mais frequência do que seria desejável, cada novo apocalipse era gerado pelas nossas mãos. Tinham sido necessários homens como Hunayn, que combatiam as trevas, que estavam dispostos a sacrificar-se, para puxar a humanidade para trás desse limiar.
Gray recordou a travessia de Kowalski na piscina tóxica. Visualizou as ossadas do tripulante de Hunayn, assinalando a sepultura do homem que fizera o mesmo mil anos antes. Os dois homens, separados por um milénio, tinham-se disposto a pagar o derradeiro preço pelo bem de todos.
Talvez estes homens corajosos fossem os autênticos messias.
Talvez a humanidade não precisasse de esperar pela salvação divina.
Talvez nós fôssemos sempre a verdadeira e única esperança.
Observou o catamarã tombado na água. Veio-lhe ao pensamento as palavras de Edmund Burke: A única coisa necessária para que o mal triunfe é que os homens bons não façam nada.
Desviou o olhar na direção do Sol que desaparecia no horizonte. Visualizou o rosto de Jack, proferindo uma promessa silenciosa.
Lutarei sempre contra a escuridão.
Por ti.
Pelo nosso futuro.
48
26 de junho, 20h24 WEST
Oceano Atlântico, ao largo da costa de Marrocos
Na popa inundada do Estrela da Manhã, o quadragésimo oitavo Musa praguejou furioso. Múltiplos fogos espalhavam-se pelo navio tombado, sirenes gritavam ininterruptamente.
Aguardava montado numa moto de água, atrás de um dos Filhos. No outro lado do porão inundado, uma equipa libertava o submersível de quatro lugares equipado com duplos lançadores de minitorpedos. Os motores ligaram-se e o submersível recuou na sua direção. Mais à frente, a porta do porão encontrava-se já aberta, virado na direção contrária da costa de Marrocos. Firat conseguia ouvir o som dos barcos militares a caminho, o rugido ocasional de um avião a voar no céu. O iate seria invadido a qualquer instante.
Não posso estar aqui quando isso acontecer.
Vendo bem as coisas, devia ter seguido o exemplo do senador Cargill. O homem abandonara o navio no estreito de Gibraltar, convocado por qualquer compromisso na cimeira. Reclamara, na altura, desiludido por não poder continuar a viagem ao encontro da equipa de assalto. Porém, a partida inesperada revelara-se um golpe de sorte.
Ou talvez o Deus do senador seja mais benevolente com ele do que Alá é comigo.
Ainda em Gibraltar, ficara contente de o ver partir, dado que isso abria um leque de possibilidades, nomeadamente uma oportunidade para matar a irritante filha do fulano. Como que carregado pela sua boa disposição, o Estrela da Manhã navegara a bom ritmo. Contava encontrar-se com a equipa de Nehir — ou pelo menos receber um relatório dos seus progressos — quando chegasse a Agadir, ainda antes de o Sol se pôr.
Olhou na direção da porta aberta.
Pelo menos, mantive a minha palavra.
Infelizmente, quando o iate chegara à costa marroquina, ficara preocupado. As horas tinham passado sem receber notícias. Depois, ao largo de Agadir — ainda sem novidades —, a preocupação convertera-se em suspeita e ordenara ao comandante do iate para rumar para norte a toda a velocidade.
O instinto revelara-se certo, mas o sentido de oportunidade falhara.
O Estrela da Manhã mal atingira a velocidade máxima quando foi torpedeado. Agora, restava-lhe fugir. Só isso importava.
O submersível encostou finalmente à moto de água. Ele passou de um veículo para o outro, sentando-se pesadamente atrás dos dois pilotos, dois Filhos a quem podia confiar a sua vida. A parte de trás do submersível estava toda por sua conta. Logo que o submersível ficou pronto para mergulhar, apontou em frente.
— Vamos!
Os motores ribombaram, o submersível deslizou pelo porão inundado e abandonou o navio. Sentiu-se momentaneamente claustrofóbico quando viu a água cobrir a concha termoplástica, mas, à medida que o submersível se afundava, trocando a claridade do dia pelo crepúsculo azul, acabou por se acalmar.
Fechou os olhos.
O plano era rumar à costa, onde teria aliados à espera para o transportar para um lugar seguro. Só então pensaria numa forma de se vingar.
Pensou em algumas coisas que podia fazer à maldita Elena Cargill.
Se calhar, sou capaz de filmar... para depois enviar ao paizinho.
Em todo o caso, por muito sugestivas que fossem aquelas ideias, pouco faziam para reduzir a sua ansiedade sobre o que acontecera à equipa de Nehir.
O submarino abanou com violência, desviando-lhe a atenção para a realidade.
— O que aconteceu? — perguntou aos pilotos.
— Fomos atingidos por qualquer coisa — explicou o piloto. — Bateu-nos por baixo. Pode ter sido um tubarão, atraído pela confusão lá atrás. Em todo o caso, não há perigo nenhum.
Firat anuiu e recostou-se um tudo-nada irritado pelo piloto ter achado que precisava de o tranquilizar com aquela condescendência. Ato contínuo, o submarino foi outra vez sacudido, desta vez arrancando-lhe um grito.
Lançou as mãos ao termoplástico da cabina e perscrutou a imensidão azul. Vislumbrou o que lhe parecia serem chamas mais abaixo. Seria um novo ataque? Outro torpedo que explodira?
Olhou na direção contrária no preciso instante em que uma forma imensa se materializou no lado de lá do termoplástico. Saltou para trás. A cabeça reptiliana tinha o dobro do tamanho do submersível. Os olhos estáticos brilhavam. Chamas douradas, impossíveis, dançavam ao longo da cabeça e por toda a extensão do pescoço comprido, que serpenteava como uma cobra.
Queria acreditar que estava a sonhar, que não passava de um pesadelo, mas os pilotos também viram o monstro. Entre gritos, um deles acelerou, mas o monstro perseguiu-os.
— Matem-no! — berrou para os dois homens.
Os pilotos recuperaram a compostura, deram meia-volta e dispararam dois torpedos. Um deles falhou o alvo, mas o outro acertou no pescoço do monstro. A explosão sacudiu o submersível. O mar iluminou-se. O suficiente para verem a cabeça decapitada afundar-se.
Os pilotos celebraram, mas a alegria durou pouco.
No outro lado, surgiu outra cabeça e depois mais duas. Cercaram o submersível, com os olhos a brilhar e envoltas em chamas.
A seguir, atacaram.
O submersível foi golpeado, rasgado. Mandíbulas gigantescas, cobertas por três fileiras de dentes pontiagudos, cravaram-se na cabina transparente. O termoplástico cedeu sob a imensa pressão e foi arrancado por inteiro.
A força da água arrancou-o do lugar e deu consigo a flutuar no vazio. A pressão rebentou-lhe os tímpanos, comprimiu-lhe os pulmões. Depois dentes agarraram-no e puxaram-no para baixo.
E nem sequer foi o pior.
As chamas envolveram-no, queimando-lhe a roupa, a pele, o cabelo. Os olhos cozeram nas órbitas. Estava a ser queimado vivo... dentro de água!
Contorceu-se de dor e pela impossibilidade de aquilo estar a acontecer.
Tinha uma única certeza.
Em vez de encontrar o Tártaro...
O Inferno encontrara-o a ele.
49
24 de julho, 10h15 WGST
Tasiilaq, Gronelândia
Um mês depois dos acontecimentos em Marrocos, Elena aproveitava o sol de uma límpida manhã de verão do Ártico. Vestia uma parca forrada com penas de ganso, mas nem precisara de correr o fecho. No topo daquela montanha, apreciava o vento frio, a gélida mordedura deste no seu rosto, o gelo em cada respiração. Tudo aquilo fazia com que se sentisse renovada, renascida de certa forma.
O que talvez seja apropriado.
À sua frente, um penhasco descia direito ao fiorde mais abaixo. A paisagem estendia-se para lá da água até à superfície gretada do glaciar Helheim, do qual corria lentamente um rio de gelo. A luz matinal refletia no gelo e era devolvida na forma de um arco-íris. Algumas secções do glaciar resplandeciam com tons azulados.
Decididamente, era um lugar de sonho.
Um grupo de habitantes locais reunira-se para prestar homenagem a dois dos seus. Havia velas acesas, algumas nas mãos, outras espalhadas ao longo da berma do penhasco. John Okalik encontrava-se de pé, uma das mãos pousada no ombro do neto, Nuka, que fitava o mar ao fundo. O próprio agente Jørgen comparecera na cerimónia.
A aldeia perdera dois dos seus filhos, os homens que guardavam a entrada do glaciar, primos de John. Os corpos nunca haviam sido recuperados, mas havia quem achasse que era melhor assim. As antigas tradições inuítes ditavam que os seus mortos não fossem nem enterrados nem queimados, mas devolvidos ao mar.
Havia um terceiro corpo que também não aparecera.
Mac virou-se na berma do penhasco, onde depositara uma vela pela memória do amigo. Coxeou na direção de Elena, com o pé ainda preso entre duas talas, mas estava a recuperar bem dos ferimentos.
— O Nelson não iria gostar nada disto — disse, a tentar disfarçar as lágrimas. — Era o tipo menos piegas que conheci.
Ao contrário de ti.
Elena pegou-lhe na mão e apertou-lhe os dedos. Sentiu o calor da pele rija, melhor do que qualquer par de luvas. Encostou-lhe a cabeça ao ombro. Tinha nascido uma cumplicidade entre os dois no rescaldo dos acontecimentos no Mediterrâneo e em Marrocos. Elena sabia que Mac fora arrastado para aquela confusão por causa da sua preocupação com ela. Em todo o caso, tinham surgido novos sentimentos nas últimas semanas, e quem sabia o que podia acontecer? Ela tinha vontade de descobrir.
Mac soltou um suspiro e pigarreou.
— O Nelson era capaz de convencer um rato a virar as costas a um pedaço de queijo, e é verdade que nem sempre estávamos de acordo na maioria das coisas...
Elena fitou-o.
— Mas era teu amigo.
Mac limpou o nariz e anuiu.
Elena viajara para a Gronelândia para aquela homenagem e para estar com Mac. Mas também havia outras razões. Encontrava-se ali há três dias e o ritmo tranquilo de Tasiilaq era uma boa mudança da perseguição das câmaras, dos pedidos de entrevistas e das manchetes dos tabloides.
O pai tinha sido preso em Hamburgo, arrastado da cimeira europeia com um par de algemas nos pulsos e cercado por um batalhão de polícias alemães e da Interpol. As imagens tinham enchido os ecrãs das televisões durante semanas. Naquele momento, o pai ocupava uma cela numa prisão federal, provavelmente estava a negociar um acordo para escapar à pena de morte. Ele já tinha revelado os nomes das altas esferas dos Apocalypti. Uns haviam sido presos e outros encontravam-se em fuga. A caça global por todos os fanáticos do grupo deveria arrastar-se durante anos, porventura décadas.
Se é que era possível apanhá-los a todos.
Como quaisquer fanáticos, tratava-se de homens e mulheres que não se deixariam capturar sem luta. Um bom exemplo era o que acontecera no complexo subterrâneo na Turquia — a um passo das ruínas de Troia, afinal —, que explodira antes de as autoridades conseguirem entrar. Lembrou-se da vasta biblioteca que lá existia e imaginou os tesouros históricos, alguns remontando certamente à fundação da Casa da Sabedoria, que se teriam perdido para sempre.
Tentou não pensar nisso.
O conhecimento nunca se perde.
Deslocava-se, transformava-se, evoluía, mas perdurava. Mesmo quando eram enterradas e esquecidas, as verdades essenciais encontravam uma maneira de sacudir a poeira do tempo e revelar-se a quem as queria encontrar. Era uma lição que aprendera naquela aventura, ao seguir o rasto de um comandante árabe, morto há séculos, até aos portões do próprio Inferno.
Os habitantes locais começaram a entoar um cântico fúnebre inuíte. Não percebia as palavras, mas a solenidade e a beleza da canção tocaram-lhe o coração.
Mac encaminhou-a para junto dos outros, permitindo-lhe que fizesse parte de tudo aquilo.
Enquanto Mac juntava a sua voz de barítono ao coro, ela fitou a extensão do Helheim, reparando nos vastos lagos de água derretida que refletiam o brilho do Sol. Ao som das vozes inuítes, interrogou-se se aquelas pessoas choravam apenas os mortos ou se lamentavam também a inevitável mudança que um dia haveria de chegar, pondo fim a tudo aquilo que conheciam.
Apertou os dedos de Mac, recusando-se a aceitar semelhante derrota.
Recordou o aviso sombrio do pai acerca dos Apocalypti: Qualquer pessoa que acredita que o fim do mundo está próximo e nada faz para o evitar é um de nós.
Retirou força da presença sólida de Mac, da sua paixão e vontade de lutar por aquelas pessoas, por aquele lugar, contra todas as probabilidades.
As lágrimas que segurara durante semanas começaram finalmente a correr.
Não de tristeza, mas de esperança.
Esperança no futuro.
Para todos nós que partilhamos este belo planeta, uma verdadeira dádiva de Deus.
21h09 EDT
Takoma Park, Maryland
Gray pedalou com mais força, dobrou a esquina a toda velocidade e chegou por fim à rua da sua casa. Arfava e suava em bica. Tentara correr contra o Sol que descia no horizonte, num percurso que se iniciara na estação do metro, mas perdera.
Da próxima vez será melhor.
Aproveitando os últimos metros, endireitou-se e largou o guiador da bicicleta, equilibrando-a por instinto e memória muscular. Há um mês que usava a bicicleta todos os dias. Era a melhor maneira de se pôr novamente em forma. Também regressara ao ginásio e começara a aceitar os convites de Monk para jogar basquetebol no parque.
Ainda assim, sabia que tinha um longo caminho pela frente, sobretudo no que tocava a encontrar o equilíbrio certo entre a vida familiar e as responsabilidades na Sigma.
A bicicleta oscilou, mas corrigiu a trajetória com a ajuda dos músculos abdominais.
Se ao menos tudo fosse tão fácil...
Se calhar, com o tempo, acabaria por ser. Se calhar, era apenas uma questão de se habituar ao papel de pai. Depois, tudo se tornaria mais fácil. Embora lhe custasse acreditar.
E não sou só eu.
Chegou finalmente a casa, uma vivenda tradicional. Voltou a colocar as mãos no guiador, saltou o lancil do passeio e pedalou até ao alpendre. A casa encontrava-se mais escura do que o habitual. Os grilos cantavam nos arbustos. Um punhado de pirilampos esvoaçava entre os arbustos.
Saltou da bicicleta e levou-a pela mão. Assim que parou, a humidade do verão de Washington caiu sobre ele como um cobertor quente. Visualizou a cerveja gelada que o aguardava no frigorífico, convicto de que a merecera, mesmo que tivesse perdido a corrida.
Em todo o caso, a culpa nem era toda dele. Na Sigma, Painter despejara-lhe em cima uma lista de tarefas para resolver, a maioria relacionada com o que acontecera no mês anterior.
Em Itália, o padre Bailey coordenava um esforço internacional para a reconstrução do palácio pontifício. Um trabalho complicado, bem entendido, dado o que se escondia sob as ruínas. Bailey queria alguma orientação, tanto para a melhor maneira de conduzir o processo, como para manter o sigilo em relação ao Santo Scrinium e salvaguardar os tesouros que pudessem ser recuperados. A hesitação do padre era compreensível. Após ter tido conhecimento da traição de monsenhor Roe, ninguém podia censurá-lo por não saber em quem podia confiar.
Gray percebia-o perfeitamente. Nunca lhe passara pela cabeça que o monsenhor fosse capaz de semelhante ação. Lembrava-se de como olhara para ele como uma espécie de reencarnação de Vigor Verona, um dos seus grandes amigos do passado e em quem confiava sem reservas. Na verdade, começava a perceber que talvez tivesse sido injusto com o padre. Bailey ainda não chegava aos calcanhares de Vigor, mas talvez um dia lá chegasse.
Quem sabe?
Guardou a bicicleta no alpendre e trancou-a com um cadeado, enquanto enxotava uma nuvem de mosquitos do rosto transpirado. Não era tarefa fácil com o alpendre às escuras. Endireitou-se e apercebeu-se da música que tocava num churrasco a decorrer no jardim de um dos vizinhos, do som da televisão ligada na casa de outro. A sua casa, porém, parecia um túmulo.
Aproximou-se da porta com o coração a bater mais depressa. Entrou rapidamente e encontrou a sala com as luzes apagadas. Encaminhou-se para a sala de jantar. Mais à frente, não se ouvia o normal barulho de pratos, copos ou panelas na cozinha. Apressou-se nessa direção.
Não encontrou ninguém.
Cerrou os punhos. Sabia que Seichan andava a passar um mau bocado. Será que ela tinha tido a coragem de agarrar nas suas coisas e...
— Aqui! — gritou Seichan do pátio, pela porta traseira da cozinha. — Isto é que são horas de chegares?
Apesar da reprimenda, Gray soltou um suspiro de alívio e apressou-se a ir ter com ela.
Deparou-se com uma manta estendida sobre o relvado, juntamente com um par de almofadas grandes. Jack estava deitado em cima de uma, a dar às pernas. Vestia um pijaminha azul com um macaco amarelo no peito. Uma semana antes, quando Seichan comprara aquele pijama, ele não dissera nada. Ainda se lembrava bem daquilo a que assistira em Marrocos, de a ver entregar Aggie a Charlie nitidamente contrariada.
Na almofada, Jack tentou agarrar os dedos dos pés com o rosto vermelho do esforço.
Isso mesmo, miúdo. Nunca desistas daquilo que queres.
Mais ao lado, Seichan tinha posto uma mesinha rasa com um candeeiro de campismo. Ela levantou-se, virou-se para a mesa e dobrou-se pela cintura. Atrás dela, Gray apreciou as vistas. Quando ela se virou, segurava duas metades de um queque com creme, cada uma com uma pequena vela espetada.
Gray sorriu, percebendo a intenção.
— Para celebrarmos o meio aniversário do Jack?
Seichan encolheu os ombros e deu-lhe uma metade.
— Pensei que não tencionavas fazer nada — comentou ele. Quando Seichan lhe dissera isso mesmo, atribuíra a decisão a uma mudança de atitude em relação à forma como encarava a maternidade. Acreditara que ela abandonara finalmente a necessidade de ser uma mãe tigre a todo o instante.
— É de chocolate e frutos silvestres — disse Seichan. — Com creme de queijo.
— Foste tu que fizeste?
Seichan franziu o sobrolho.
— Achas que ia perder tempo a fazer um único queque? E, se fizesse uma dúzia, lá se ia a tua dieta.
Verdade.
Ela puxou-o para a manta e os dois deitaram-se nas almofadas com Jack entre ambos. Pediram os respetivos desejos em silêncio e apagaram as velas. Deixaram-se ficar deitados a ouvir os grilos, a observar os pirilampos.
— Isto é agradável, não é? — murmurou Seichan.
— Muito...
Ela lançou-lhe um olhar de soslaio.
— Mas não te habitues.
Gray anuiu, reconhecendo que Seichan nunca seria o tipo de mãe que fazia bolos e preparava elaboradas festas de meio aniversário. De alguma forma, tornara-se evidente que ela encontrara o seu ponto de equilíbrio, provavelmente mais rapidamente do que ele.
— Ah! — exclamou ela, virando-se. — Quero que vejas uma coisa.
Pegou em Jack, interrompendo a sua luta para alcançar os dedos dos pés, e afastou-se um metro. Virou-se e pousou Jack no chão, segurando-o pelas axilas. Fez um compasso de espera, permitindo que ele apoiasse bem os pés no cobertor. Depois, largou-o.
Jack cambaleou como um marinheiro bêbedo.
Gray endireitou-se, espantado.
Não acredito... ela conseguiu...
Jack deu um passo, a abanar os braços e a babar-se, e depois outro.
Gray abriu os braços.
— Vem, Jack. Vem...
O filho deu mais um passo descontrolado. Gray agarrou-o antes que desse com o nariz no chão. Pegou nele e segurou-o nos braços.
Seichan juntou-se aos dois, com um sorriso triunfante no rosto.
— Queres dizer mais alguma coisa sobre livros de maternidade? — perguntou.
Gray deitou Jack na almofada e puxou-a para si.
— Continuas uma mãe tigre, não é?
Seichan enroscou-se contra ele.
— Também posso ser uma fera de outras formas, sabes?
Gray sorriu e beijou-a.
Isto, sim, é equilíbrio.
EPÍLOGO
Seis meses depois
25 de janeiro, 17h32 WAT
Parque Nacional de Virunga, República do Congo
Outra vez aqui...
Kowalski enxotou uma mosca-varejeira que tentara arrancar-lhe um pedaço do braço. Desviou o olhar na direção da orla da floresta, para lá da extensão de prado naquele canto remoto do Parque Nacional de Virunga, um santuário de gorilas no coração do Congo. Encontrava-se sentado numa cadeira desdobrável com uma garrafa de cerveja gelada pousada numa mesinha ao lado.
O Sol estava quase a pôr-se naquele dia de inverno.
Ele passara a maior parte do dia ali sentado ou numa das tendas mais atrás. À medida que a tarde progredia, observara as sombras a alongarem-se na vegetação. Aquele era o terceiro dia em África.
Junto à orla da floresta, Maria conversava com o doutor Joseph Kyenge, o zoólogo responsável pelo santuário. Kowalski viu o homem congolês abanar a cabeça e apontar para as árvores. Estava nitidamente a dar o dia por encerrado. Baako, o gorila das terras baixas que Maria libertara naquele santuário dois anos antes, continuava sem aparecer.
Maria deixou cair os ombros, desiludida.
Kowalski franziu o sobrolho e abanou a cabeça. Ao que parecia, os jovens gorilas eram como os adolescentes, sempre a desiludir os pais, sempre a querer passar mais tempo com os amigos do que com a família.
Maria olhou para trás.
Kowalski levantou-se, pronto para ir ao encontro dela e consolá-la, tal como fizera nas duas noites anteriores. Desde os acontecimentos de há um ano, tinham-se tornado mais próximos do que nunca. Não sabia dizer porquê, apenas que algo parecia ter-se rompido entre os dois, uma barreira que nem sabia que existira.
Antes que Maria atravessasse o prado, Kyenge chamou-a:
— Doutora Crandall, espere! — O zoólogo apontou outra vez para as árvores. — Venha ver!
Maria olhou para Kowalski, o rosto iluminando-se de esperança. Ao virar-se na direção da floresta, Kowalski correu ao seu encontro. Se fosse um falso alarme, ela ficaria destroçada, e ele queria estar lá para a apoiar.
Alcançou-a e os dois caminharam ao encontro de Kyenge. O zoólogo recuou meia dúzia de passos, com um enorme sorriso no rosto. Depois, fez um gesto largo, como que a apresentar um convidado de honra.
Na floresta, a palma de uma mão áspera afastou a densa vegetação. Uma forma musculada materializou-se, apoiada nos nós dos dedos. Os olhos negros fitaram-nos. Numa postura quase tímida, o enorme gorila saiu das sombras da floresta para a luz do prado. Sentou-se sobre os quadris, com a cabeça pontiaguda baixa, como que envergonhado, exatamente à semelhança de um adolescente apanhado a chegar a casa tarde e a más horas.
— Baako — disse Maria. — Já não era sem tempo.
O jovem gorila levantou o rosto o suficiente para mostrar os olhos. Ergueu as mãos e começou a gesticular.
[Mamã]
As sobrancelhas espessas mantinham-se franzidas de preocupação, os lábios esticados numa espécie de beicinho, mostrando apenas uma nesga dos dentes brancos.
— Oh, Baako, está tudo bem. Não é preciso ficares assim.
Maria correu para ele e abraçou-o. Fez o melhor que podia para o consolar, mas teve uma enorme dificuldade em conseguir colocar-lhe os braços em volta. Baako quase duplicara de tamanho. Maria fez-lhe cócegas, provocou-o, coçou-o onde sabia que ele gostava.
Kowalski franziu o sobrolho.
Mau, isto é o que ela faz comigo.
Baako descontraiu e deixou cair os ombros por entre uma sucessão de sopros, o equivalente ao riso dos humanos. Por fim, Maria inclinou-se para trás e estendeu um braço na direção de Kowalski.
— Como é, miúdo? — disse Kowalski, erguendo a mão.
A saudação de Baako foi um nadinha mais exuberante.
O único aviso foi um gesticular rápido.
[Papá]
O gorila atirou-se para cima dele e derrubou-o. Kowalski parecia que tinha sido placado por um atacante da NFL. Mesmo assim, acolheu o entusiasmo de Baako com uma felicidade idêntica. Os dois rebolaram pela erva até ficarem sem fôlego. Baako de tanto rir, e ele simplesmente porque já não tinha forças para mais.
Sentou-se e sorriu para Maria.
— O nosso miúdo está um homem.
Ao longo da meia hora seguinte, o convívio passou de festivo para uma sessão tranquila de reflexão e reunião familiar. Conversaram em linguagem gestual. Baako partilhou as histórias da selva, do dia a dia com os outros gorilas. Por fim, a conversa foi sendo substituída por toques e murmúrios de afeto.
A oeste, o Sol afundara-se no horizonte, deixando apenas um fulgor rosado no céu. As fogueiras no acampamento foram acesas. As estrelas começaram a invadir o céu noturno.
Kowalski sabia que não haveria melhor ocasião do que aquela. Tinha a família reunida. Enfiou a mão no bolso e retirou uma pequena caixa quadrada. Não era o anel de noivado que comprara um ano antes e perdera. Aquele era outro e custara-lhe boa parte das poupanças.
Mas é ainda melhor do que o primeiro.
Sabia que não era o mesmo homem de há seis meses. Olhou para Maria, que não reparara na caixa. Ela continuava focada em Baako, o rosto sorridente e feliz. Maria também se tornara outra mulher. A relação de ambos parecia novinha em folha, reforçada pelas chamas do inferno por onde passaram.
Kowalski engoliu em seco e estendeu a mão com a caixa.
Maria virou-se, bem como Baako.
Kowalski abriu a tampa com o polegar.
— Maria Crandall, aceitas...
Maria atirou-se para os braços dele, com igual ou mais força do que Baako fizera. O gorila juntou-se àquele abraço, convencido de que se tratava de mais uma brincadeira. Por sorte, Kowalski foi a tempo de fechar a tampa da caixa antes de cair desamparado com Maria em cima dele.
— Calculo que isso seja um sim? — perguntou ele.
— És tão parvo — respondeu ela. — Mas és o meu parvo. Para sempre.
Segurando o rosto dele com as duas mãos, Maria inclinou-se e beijou-o.
Decorridos uns minutos de planos sussurrados, sorrisos, risos e momentos silenciosos de ternura, os três deixaram-se ficar deitados de costas na erva, a fitar as estrelas no céu e a ouvir o canto das aves e os chamamentos distantes dos predadores noturnos.
Maria rolou finalmente para o lado, deu-lhe um beijo na cara e apontou na direção da tenda.
— Vou buscar umas cervejas.
Kowalski deixou cair novamente a cabeça e suspirou com um sorriso de orelha a orelha.
— Eu sabia que darias uma boa esposa.
Ela deu-lhe um murro no braço e foi buscar as cervejas.
Baako aproveitou a ausência de Maria e sentou-se mais perto de Kowalski. Debruçou-se sobre ele e começou a cheirá-lo, a mexer-lhe na roupa, como que à procura de alguma coisa. O gorila já tinha feito o mesmo, embora não daquela maneira por demais evidente.
Ainda deitado, Kowalski gesticulou para o gorila.
[O que estás a fazer?]
Baako endireitou-se, bateu com o dedo médio da mão esquerda na barriga de Kowalski e levou o dedo médio direito à própria testa.
[Estás doente]
Kowalski sentou-se e puxou a mão do gorila para baixo. Olhou por cima do ombro, mas Maria continuava no interior da tenda. Kowalski só recebera o relatório médico na semana anterior. Painter conhecia os resultados dos testes, mas respeitara a privacidade dele, dando-lhe tempo para digerir a situação.
Ao que tudo indicava, ele não escapara incólume às garras do Tártaro. O Sangue Prometeico protegera-o da maior parte da radiação, mas não da totalidade. O relatório médico estava cheio de palavreado científico e números, mas a parte que interessava resumia-se a três linhas:
MIELOMA MÚLTIPLO
NÍVEL 3
ESPERANÇA DE VIDA: DOIS ANOS
Um oncologista avisara-o em relação ao prognóstico.
Se tiver sorte.
Kowalski reparou nas rugas de preocupação nos olhos de Baako. Era por causa de uma expressão como aquela que ainda não tinha dito nada a Maria. Haveria de lhe contar, mas não naquele momento, quando tudo corria da melhor maneira. Não seria capaz de lhe estragar a felicidade. Talvez fosse uma opção errada, quem sabe até egoísta, mas precisava de tempo para assimilar a realidade.
Gesticulou novamente para Baako, sabendo que o gorila acreditaria nele, que seria mais fácil mentir em linguagem gestual.
[O papá está bem]
Baako fitou-o, depois abraçou-o com força. Kowalski esfregou-lhe as costas, tranquilizando-o. Quando o gorila o largou, parecia mais aliviado, bastante mais feliz.
Ótimo.
Kowalski virou-se na direção da tenda. Maria aproximava-se com duas cervejas nas mãos. Ele acenou-lhe.
Baako foi ao encontro dela, como se não a visse há uma série de dias.
Ou talvez houvesse outro motivo.
Maria debateu-se para manter as cervejas longe do alcance do gorila.
— Não tens idade para beber — disse. — Quando fores mais crescido, talvez.
Kowalski riu-se.
Ela juntou-se a ele e suspirou. Um suspiro de plena felicidade. Emoldurada pelas estrelas no céu, olhou para ele.
— E tu, estás a rir de quê?
Kowalski fitou-a.
— Porque sou o homem mais feliz à face da Terra.
E tenciono continuar assim.
James Rollins
O melhor da literatura para todos os gostos e idades















