



Biblio "SEBO"




Chico-Pé-Fêde caminhava, aos tropeções, como um homem embriagado. Há muito que não tocava no vinho, porém. Todo aquele andar às bolandas devia-o ao estado deplorável dos seus pés. Sentia dores, por um lado, e comichões, por outro, tudo numa tortura excruciante que lhe dava desejos de morrer, tal era o seu desespero. Já não havia remédio. O unguento do curandeiro já não proporcionava mais alívio, misturando o cheiro ao fedor das pústulas, que subia até às narinas.
Terminara a distribuição, de casa em casa, da circular de tarja preta noticiando o óbito de D. Alzira das Neves, figura popular do beatério da «cidade cristã». Estava agora reduzido àquela triste condição. Sem emprego, porque ninguém o queria para outras tarefas, auferia destas caminhadas misérrimas gorjetas que mal lhe matavam a fome.
Fazia frio. A temperatura caía, de repente o vento agreste da nortada soprava fúrias siberianas pelas esquinas, rodopiando folhas e poeira. O encarregado de acender os candeeiros de petróleo da rua passava dobrado ao peso da escada de bambu. Ainda não eram seis e meia, mas a noite avizinhara-se por entre o lusco-fusco.
Trajava um casaco preto que já fora bom, mas agora, enxovalhado e poído, com buracos, não o protegia das navalhadas do vento. Esmola de última hora, oferecida pela família da falecida, embaraçada com o fato fino e o jaquetão de lã esfarrapados de que dispunha para resistir ao Inverno. Aceitara-o com efusões humildes, perdida que fora a vergonha. Batia os dentes e estava com tanta fome que tinha ganas de vomitar. As moedas que recebera permitiam-lhe uma canja. E, ao pensar na canja, escorria-lhe a baba pela boca.
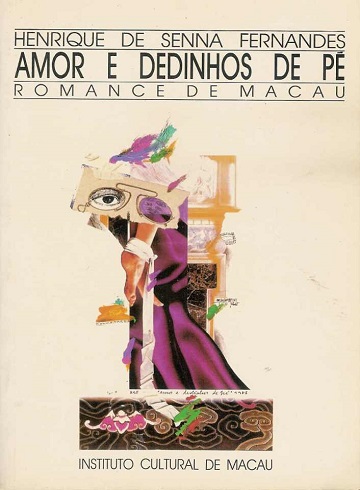
A loja que a havia quente e suculenta, por um preço acessível, ficava, porém, ainda longe para o estado dos seus pés, já macerados pelo esforço.
Saindo do Bairro do Lilau, pisava com cuidado as pedras que calçavam a Rua do P.e António. Os pés não lhe consentiam galgar mais depressa. Tinha um modo desengonçado de andar. Uns julgavam-no alcoólico inveterado, outros atribuíam-lhe doenças vergonhosas, outros, mais cruéis, chamavam-lhe «leproso». Diziam-lhe isso na cara, pasto de chacota geral. Para onde fosse escarneciam dele, se não era escorraçado, como porcalhão e podre. Gostaria de poder chorar a sua desdita, mas os olhos mantinham-se secos, no fundo das órbitas dum rosto escalavrado, a barba patibular de muitos dias.
As casas alumiadas a petróleo, naquele ano de 1905, blandiciavam um aconchego de lar interdito para ele, tão habituado estava a ser repelido com nojo e um chuveiro de injúrias.
Estacou, de súbito, quando deparou, a quinze metros, com uma caterva de garotos que ainda brincavam, a despeito do vento e do frio, no círculo iluminado pelo candeeiro da rua. Jogavam o talu com entusiasmo e risadas. Tentou recuar para se livrar das atenções. À medida que fora crescendo a sua miséria, o rapazio metia-se com ele, certo da impunidade, gritando-lhe nomes feios, com a crueza inconsciente e característica das crianças. Mas faltava pouco para dobrar a esquina e recuar parecia superior às suas forças.
Os petizes descobriram-no. Interromperam o jogo e a algazarra, entraram logo em conciliábulo. Era um silêncio que precede a tempestade. Ainda vislumbrou a esperança dum milagre. Porém, quando já estava no meio-deles, rebentou a chufa. Num coro combinado, começando pelos mais avantajados e descendo aos mais franganitos, a fedelhada bradou:
Chico-Pé-Fêde Chico-Pé-Podre Nunca lava olodeco
Há muito se habituara àquelas afrontas a que se resignara. Mas desta vez chegara ao extremo da paciência. Reagiu com desespero:
- Pulhas! Malvados!
Avançou para agarrar o mais próximo. Uma dor lancinante, porém, atravessou-o, como gume de punhal. Desequilibrou-se e cairia sobre as pedras geladas, não fora o apoio da parede. Encostou-se a ela, arfando, e só com esforço não escorregou para o chão. O garotio, largado em chalaça, tocava no corpo dele e fugia correndo, em diabólico vaivém. Um dos pequenos, no entusiasmo da brincadeira, jogou uma pedra sobre a vítima. O seixo atingiu, de raspão, a testa, provocou uma pequena marca avermelhada. Era um lanho sem importância, mas suficiente para parar com a risota. Num ápice, o rapazio debandou, assustado. Transeuntes que se riam ou censuravam aqueles demónios também se apressaram a desaparecer, porque ninguém desejava ser testemunha. E a rua voltou a ser um deserto.
As dores e as comichões assanharam-se quando esboçou o primeiro passo. As sapatilhas de lona - já não tinha sapatos -, que tinham sido brancas, mas que agora eram uma mistura de cinzento, castanho e preto, estavam molhadas, por dentro, de um líquido viscoso. O cheiro, apesar do vento, subia-lhe às narinas. Com o lenço imundo, limpou a testa a arder.
- Eu já não posso andar...
A fome era tanta e o frio fustigava-o que preferiu caminhar do que manter-se imóvel. Juntava ao sofrimento a revolta de que nem uma porta ou janela se abrisse por compaixão.
Aliás, quem iria preocupar-se com ele em época de Carnaval, em que toda a «cidade cristã», quebrando a pacatez, se devotava a bailaricos, esquecida, por uns dias, dos problemas e quezílias? Nessa noite, para o velório da D. Alzira das Neves só ficariam as beatas e os parentes mais chegados. O resto viria apertar rapidamente a mão e desaparecer logo para as festas. Só ele, doente e andrajoso, não teria esse privilégio.
Dobrou a esquina, descendo a ladeira escorregadia. A iluminação péssima constrangia-o a mover-se com cautela. Mas não desistiu, porque no fundo clareava, à luz do gás, a loja da canja.
O frio era ali mais agudo. O vento encanado queimava as faces e as mãos. Nada detinha, porém, Chico-Pé-Fêde. O estômago protestava às guinadas e os pés ardiam, numa tortura lancinante. Os olhos, no abismo das órbitas, esbugalhavam-se para a lanterna de gás, como se fosse a tábua de salvação.
Chegou, enfim, ao destino, mas não entrou. O chinês, dono da loja, proibira-o de sentar-se no interior, desde que o odor dos seus pés dispersara a clientela. Humildemente, acercou-se duma mesa tosca, ao relento, caindo num banco, com o peso todo do corpo.
Perante a extrema necessidade, nada valiam a dignidade e as migalhas de orgulho. E esperou, todo encolhido e sem murmúrio, que fosse atendido pelo garoto empregado, que o fitava com desdém.
Enquanto aguardava pela canja, aproximou-se um mendigo, com litanias de miséria, estendendo-lhe a mão arroxeada. Ligava-os a ambos a mesma desgraça. Mas Chico-Pé-Fêde, moído de dor e de frio, injuriou-o com ferocidade. Que trabalhasse como ele, para merecer a canja. Escorraçado, o mendigo encolheu-se, para se abrigar no alpendre fronteiro, choramigando.
Veio um cão transido que o farejou, a pedir dono. Fez-lhe um gesto agressivo e o animal perdeu-se na escuridão, ganindo. De repente, diante de Chico-Pé-Fêde estava a canja a ferver e rescendente. Logo olvidou tudo o mais.
Francisco da Mota Frontaria provinha directamente dos Frontarias lorcheiros, que tanto se tinham distinguido no tráfico de mercadorias pelos diversos portos da China e na luta contra os piratas, no último quartel do século XVI e na primeira metade do século XIX.
O fundador da família, Bernardo Frontaria, fora um grumete algarvio que aportara ao porto de Macau, a bordo dum brigue inglês, sabe-se lá por que artes mágicas. Dois anos de mar, isolado da sua gente e farto das brutalidades do comandante, ao escutar a língua natal naquela terra perdida na costa da China, tomou uma decisão. Na noite, véspera da partida, desertou, atirando-se à água, e nadou até o areal da Praia Grande. Foi acolhido com simpatia e escondeu-se numa tavolagem, até o brigue levantar ferro. Os pergaminhos da família não se referiam com muita minudência aos seus primeiros passos na terra de adopção, mas o certo é que não abandonara a vida do mar. Isto passava-se no terceiro quartel do século XVI.
Casou-se, depois, com uma meio goesa e meio minhota, nascida em Macau, que lhe deu filhos rudes mas corajosos, já capitaneando lorchas quando orçavam pelos vinte anos. Tanto eles como o pai, ex-grumete, participaram, sob o comando do Ouvidor Arriaga, na acção contra o pirata Cam Pou Sai, ao largo da ilha de Lin Tin. Voltaram triunfantes, com fama de valentes e façanhudos. Dedicaram-se à profissão de loreheiros.
Nessa altura, as lorchas de Macau, comandadas por macaenses, de cuja tripulação faziam parte também chineses, tinham adquirido celebridade na luta persistente contra a pirataria que infestava as cercanias dos portos ribeirinhos do Império do Meio. Dada a ausência de qualquer força naval organizada, as lorchas comboiavam as embarcações atulhadas de mercadorias, alfaias e passageiros, e o tiro certeiro das suas colubrinas punha de largo o banditismo infernal. Quando havia abordagem, a chacina era cruel de parte a parte, mas quase sempre as lorchas célebres levavam de vencida o inimigo.
O negócio era rendoso, pelos riscos que advinham. Os piratas não davam tréguas e eram de justiça sumária ou, então, exigiam ruinosos resgastes. No entanto, a flâmula dos Frontarias - um leão azul sobre um fundo vermelho - era a garantia de que os comboiamentos aportavam, sãos e salvos, ao destino.
Afora naufrágios ocasionais, provocados por tufões, só um Frontaria caiu na mão dos piratas. Não o pouparam, cevaram sobre o infeliz os seus ódios e a cabeça decepada foi remetida ao ex-grumete, mergulhada em sal, numa caixa de madeira, depositada à porta da casa, em certa madrugada, por mãos vingativas.
Um outro Frontaria, tendo livrado a família inteira dum chinês abastado de Cantão, cujo tou ficara cercado por facínoras, recebeu como prémio de gratidão eterna a mais bonita das filhas, acompanhada de chorudo dote. O felizardo trouxe a jovem de dezasseis anos para Macau, baptizou-a e casou-se com ela na Ermida de Nossa Senhora da Penha de França. Foi desse ramo que veio mais tarde Francisco da Mota Frontaria.
Os primeiros Frontarias eram unidos em volta do patriarca, todos apostados em criar uma casa e uma dinastia. Os cabedais reunidos pelas viagens e aventuras ofereceram-lhes uma vida opulenta. Para marcar a sua importância no burgo e para fazer esquecer a origem plebeíssima do ex-grumete, construíram um palácio assobradado à Praia do Manduco, que foi o pasmo da época.
A Guerra do Ópio, a fundação de Hong-Kong e o rápido desenvolvimento da colónia inglesa foram um golpe fatal tanto para a empresa lorcheira dos Frontarias como para os outros que se dedicavam à mesma profissão. Os Ingleses, dotados de melhores meios e de navios mais eficientes, como canhoneiras, corvetas e escunas, substituíram o papel dos lorcheiros macaenses, mais lentos e menos organizados, que entraram em vertical decadência. Outra força mais avassaladora impunha-se agora nos mares da China.
Macau, até então o único entreposto ocidental na costa da China, perdeu para sempre o seu lugar proeminente. Hong-Kong abrira-se ao progresso, era um novo Eldorado aliciante de oportunidades. A Revolta dos Faitiões, o assassínio do Governador Ferreira do Amaral e a incursão de Vicente Nicolau de Mesquita ao Passaleão provocaram uma sensação de mal-estar e insuflaram muita gente cauta a abrigar-se sob a protecção do orgulhoso leão britânico. Iniciou-se uma enorme emigração, a primeira, do Macaense para a nova colónia, que se espraiava no sopé duma ilha montanhosa e agreste. Entre os emigrantes figuravam os Frontarias da terceira e quarta gerações.
Os Frontarias que ficaram acompanharam a decadência de Macau. Longe do mar eram como peixes fora de água. Não se adaptavam. Com os rendimentos perdidos ou levianamente desbastados, questionavam entre si, em disputas mesquinhas e odiosas que destruíram a unidade da família, essa unidade que o patriarca ex-grumete sempre defendera. Agarrados a pergaminhos, exigiam deferências, consideração e empregos à altura do nome. Mas pergaminhos sem dinheiro eram como folhas secas ou mortas, que não impressionavam ninguém. As filhas de casa, que, nos tempos áureos, se ligaram a nomes mais ilustres, passaram, com o declínio, a casar com funcionários e comerciantes modestos. E os varões não tinham muitos mais pruridos. A maioria, não suportando a pelintrice, dispersou-se por Hong-Kong, Xangai e outros portos da China onde existiam comunidades portuguesas. Uns prosperaram, outros não ultrapassaram a mediania e outros, ainda, perderam-se na obscuridade e no anonimato.
O enorme casarão à Praia do Manduco, celebérrimo pelos banquetes, bailes e recepções, alumiado por mil candelabros que o enchiam duma auréola de opulência em noites de gala, decaíra também, acompanhando o diapasão geral. Foi, depois, fruto de questiúnculas vergonhosas entre os herdeiros, rematadas por uma venda ao desbarato para outros «manda-chuvas» que substituíram os Frontarias. Sucedendo ciclos de altos e baixos, correu depois para outras mãos, até se transformar em armazém sujo, degradado e carcomido.
Por volta de 1870, um único ramo da família persistia em Macau. Pertencia à descendência de Álvaro Frontaria, o lorcheiro intrépido que trouxera da «terra-china» uma noiva de dezasseis anos, e era constituído por três irmãos e um rapazito, Francisco da Mota Frontaria, filho único do mais velho.
Este chamava-se Leopoldo. Desde cedo revelara sinais de rebeldia e incompatibilidade com a vida pacata e familiar. Dizia que nascera fora da época, daquela em que estaria perfeitamente à vontade. E, como já não podia ser lorcheiro heróico, dera em rufião, jogador e arruaceiro. Era um estoira-vergas. Aos vinte e cinco anos engravidara uma rapariga simplória e ignorante, cujo pai era um modestíssimo guarda-policial. Não tomou a sério a cabeçada e teria abandonado a moça, com a sua vergonha, se não fosse o pai desta aparecer à sua frente com um parão de cozinha e ideias assassinas. O parão, à luz do luar, foi um argumento de peso para conduzir a rapariga ao altar. Mesmo ajoelhado diante do padre, Leopoldo ouvia a ameaça do progenitor, ofendido nos seus pundonores:
- Não lhe corto o gasganete! Corto-lhe os «tomates» e deles faço carne picada.
O casamento foi, no entanto, um desastre. Sentindo-se encurralado para todo o sempre, com uma mulher estúpida a reboque, descobriu nela o bode expiatório de todos os reveses e frustrações. Moía-a de pancada e só não se excedia mais por causa do parão do sogro. O filho que lhe nascera foi desde o início votado ao desprezo. O pai olhava para a criança com um rancor irracional. Francisco Frontaria só vagamente se lembrava dele como o homem que o sovava constantemente. Aos quatro anos tornara-se órfão de mãe. No próprio dia do enterro, Leopoldo conduzira-o, transido de medo, para a casa da tia. Nunca mais o viram. Mais tarde soube-se que morrera num beco qualquer de Foochow, um dos portos da China, os gorgomilhos cortados por um parão. Afinal, a sua sina seria morrer sob a lâmina dum parão. Nunca se descobriu quem fora o criminoso e assim acabou miseravelmente um Frontaria, sem honra nem dignidade.
A tia Beatriz, mais conhecida por Títi Bita, era uma mulher inofensiva e bondosa, muito devotada à sua igreja. Era rechonchuda, uma paz-de-alma, condenada de pequenina ao celibato. Não tinha atractivos, nunca rapaz algum cirandou à volta dela, mas, graças a Deus, nunca se mostrou frustrada com tal situação. Confinava a sua vida entre a casa e a igreja, entre pudins e iguarias, de que era exímia cozinheira. Era boa para orientar festas de casamentos, baptizados e aniversários. Tinha o prazer doentio de vestir os cadáveres dos amigos e orientava um velório com eficiência. Conhecia todas as orações para as almas irem mais depressa para o céu. Sempre prestável, com um sorriso nos lábios, era incapaz de falar mal de alguém. Qualquer acontecimento desagradável comentava-o com ar desolado:
- Ai, que estúpido... que horror! Porque assim, aah?
E dali não passava. A cabeçada do Leopoldo foi perdoada, como perdoada foi a cunhada ignorante. Somente abanara a cabeça, desgostosa com os factos, mas não invectivou o irmão. Quando Francisco, atemorizado e sujo, restos de ranho a enegrecer o nariz, lhe foi lançado nos braços, aceitou-o alvoraçada.
- Trago para você este mofino de criança! Se não quiser, bota-o fora, na rua.
Nunca houve oportunidade para tão drástica solução. A Títi Bita tomou-se de amores pelo sobrinho, nele encontrou todo o seu instinto maternal, até então recalcado. E malcriou-o.
Timóteo, o terceiro irmão, era a antítese do mais velho. Não tinha o físico nem atitudes e procedimentos do ferrabrás. Era baixo, magro e ralo de cabelos, a voz cacarejante, que o inferiorizava secretamente. Mas supria estes defeitos com uma enormíssima prosápia, agarrado aos pergaminhos da família. Não gostava que chamassem «lorcheiros» aos Frontarias, mas sim «capitães de lorcha», o que, no seu entender, não era a mesma coisa. Nos jantares que dava, já sem a sumptuosidade dos antepassados, pois os créditos dum honestíssimo funcionário da Repartição da Fazenda não o permitiam, e com convidados que não eram da nata social da terra, comia-se com os pratos da «casa-grande», salvos do desbarato geral, ostentando o leão azul. E o mesmo leão azul ostentava-o no anel, no meio duma pedra vermelha. Sempre que podia, lá estava Timóteo a perorar as glórias da família, os feitos contra Cam Pou Sai e demais pirataria.
Desde novo frisava que era da «aristocracia». Ocultava as origens humildes do grumete, pintava-o como se fosse um almirante, um desses navegadores que dominavam procelas, um gigante temido e venerado ao mesmo tempo. Inventava façanhas, que, à força de repetidas, acabara por acreditar nelas ou já não podia desmenti-las. E, quanto à opulência pretérita da casa, descrevia as salvas de prata, as moedas de ouro que rolavam para os cofres, as tapeçarias e os jarrões Mings, a familiaridade do trato dos seus antepassados com os governadores e a sua entourage, palavra que pronunciava com ênfase.
Era um moço de susceptibilidades e feria-se com o desconhecimento ou pouca importância que os contemporâneos prestavam à sua gente. Doía-lhe não ser convidado para as recepções do Palácio, isto é, o Palácio do Governo, e pela ausência de considerações a que se julgava com jus. Por todas estas empáfias, os amigos eram poucos, justamente aqueles que descobriam debaixo das vaidades ridículas um bom coração. Mas para a maioria era antipático e com uma conversa insuportável.
É um pavãozinho... Não faz mal a ninguém, mas chateia.
Sonhara casar-se com uma menina da Praia Grande ou da «nobreza» de S. Lourenço. Mas tivera de resignar-se, pois os anos fugiam, ligando-se a uma donzela honrada e piedosa do Bairro da Sé, sem pergaminhos. Tal facto não obstou que ela absorvesse as ideias do marido, tornando-se também um poço de vaidade, escolhendo as relações. Uma Frontaria, afirmava, não podia rolar com qualquer um.
O casamento louco de Leopoldo foi um golpe rude para o casal. Trancaram a porta à cunhada e encararam o sobrinho como fruto de vergonha.
Que seria de Francisco da Mota Frontaria sem a protecção e o desvelo da Títi Bita? Um garoto de rua. A sorte favorecera-o. Desde a primeira noite de orfandade transplantou-se do inferno para o paraíso. Gozou dos bons lençóis, um quarto só para ele, uma criada para servi-lo, fatinho limpo, enlambuzando-se dos doces e salgados da tia.
Tornou-se o bonito menino da bondosa senhora, o seu afecto e a sua fraqueza. Cheio de mimos, longe do rebenque do pai, que lhe batia por tudo e por nada, dominou-a, alcançando tudo que a sua imaginação infantil caprichava, sem utilizar birras ou explosões de choro. Quando ouvia um «não» inicial, punha-se com uma cara de coitado que amolentava logo o coração da tia. Sendo de natureza alegre e gentil, Francisco conseguia atingir o seu objectivo com beijos e meiguices. Para a Títi Bita era um anjo.
Era também uma criança formosa, asseada, cheirando a sabonete, os cabelos bem penteados e, à vista de estranhos, obediente. Mas a boa educação, a finura de maneiras, a partir dos sete anos, deveram-se, sobretudo, ao Tio Timóteo.
Tendo, a princípio, acolhido muito mal o petiz, mudou, depois, de opinião. Afinal, essa criança, gostasse ou não gostasse, era um Frontaria, o único que continuaria a família em Macau, já que a Providência, por um desses mistérios cruéis, não lhes presenteara, a ele e à mulher, a ventura de terem filhos. Engolindo um enorme desgosto, Timóteo Frontaria passou a encarar o sobrinho como a única esperança da família. Depois de muitas discussões com a irmã, ficou encarregado da educação do pimpolho. Entendeu criá-lo à maneira prussiana, fundada na admiração pelos guerreiros que tão facilmente tinham vencido os Franceses na Guerra de 1870. Perante o horror da irmã Bita, gritava:
- O que este menino precisa é de disciplina. Tem o sangue sujo e necessita de uma boa limpeza para ser um homem.
As medidas que tomava eram, porém, contrariadas pela irmã e dali nasciam divergências intermináveis. Francisco nutria um respeito visceral pelo tio, de quem apanhava cacholetas dolorosas, quando não procedia de acordo com os seus ditames. Consolava-se das humilhações no regaço da tia, que lhe afagava os cabelos e as faces, estragando a obra do irmão.
Entre a severidade do tio e os mimos da tia, o rapazito cresceu como uma criança normal, o que não conseguiria se só estivesse ao cuidado da Títi Bita. Os seus defeitos não tinham vindo ainda à tona, de maneira a enchê-la de apreensões.
Aos sete anos, por intervenção do Tio Timóteo, marchou para a escola de D. Natividade Antunes, severa professora de várias gerações, que cobria de tabefes e reguadas quem não aprendesse escorreitamente as lições. Era rígida como uma prussiana. Costumava clamar secamente:
- Para mim, são todos iguais. Seja filho do Governador ou filho do varredor de rua, apanha na mesma se não souber o que ensino. Não admito madraços.
Francisco iniciou assim aquilo que mais tarde se chamaria «instrução primária». Se nunca foi um óptimo aluno, pelo contrário rasou sempre pela mediania, cumpriu as tarefas mais por temer os berros e os castigos do que pelo gosto de aprender.
Era avesso aos problemas de aritmética, que só resolvia depois de derreter os miolos, a ponto de a Títi Bita se queixar timidamente de que o esforço o punha esparvoecido. O que decorava era esquecido dentro de dias. D. Natividade Antunes abanava a queixada dura, cansada de gritar, e só admirava no aluno a sua letra bonita e a sua grande queda para o desenho. As suas cópias eram pequeninas obras de arte caligráfica, a letra redonda, certa e equidistante, cópias que apareciam nas exposições, no fim dos anos lectivos, que D. Natividade apresentava para o regalo dos pais e aprovação das entidades oficiais. Também ali ficavam, em lugar proeminente, os desenhos de Francisco.
Era hábil a recitar versos - uma incongruência para quem se esquecia tão facilmente das lições decoradas -, poemas de Castilho, João de Lemos, Soares de Passos e João de Deus. Tinha uma voz bonita, a dicção clara. Só falava patois exclusivamente com a tia; com o tio dirigia-se-lhe em português vernáculo, para não se envergonhar diante dum metropolitano, como o digníssimo funcionário da Fazenda, a todo tempo, frisava. Francisco cantava também no coro das crianças organizado pelo P.e Serafim, da Igreja de Santo António, em cujo bairro vivia a Títi Bita. As amigas da simpática senhora beliscavam as bochechas do rapaz, murmurando, com grande desvanecimento da tia:
- Qui boniteza!
Aos oito anos, não percebendo bem o que eram os pecados do mundo, fez a primeira comunhão. As madres do Convento Canossiano, onde os comungantes passavam obrigatoriamente os três dias de retiro preparatório para a grande solenidade, só tinham palavras de unção para o petiz, que realmente assumia uma fisionomia de anjo. Portava-se com a devida compenetração, que as encantava. Extasiava-as ouvi-lo papaguear, sem uma falha, os Actos de Fé e de Contrição, os Dez Mandamentos e os Sete Pecados Mortais. Aquilo revelava uma genuína vocação para padre.
Com a música de tantos encómios, a Títi Bita debulhava-se em lágrimas. Valera a pena tantos sacrifícios, o amor desvelado pelo garoto, que doutra forma séria um valdevinos. Concordava até que fosse padre e já o imaginava no cordão dos seminaristas, a acompanhar as procissões e a gargantear o latinório.
O Tio Timóteo é que não esteve pelos ajustes. Tinha outras ambições em relação ao sobrinho. Opôs-se terminantemente que fosse para o Seminário.
- Ele tem outra função. É a de continuar a raça dos Frontarias. Este o seu dever. Nem que eu tenha de ficar a noite inteira junto da cama nupcial.
- Credo, senhor! Não blasfeme - ripostava Camélia, a mulher, toda escandalizada, persignando-se.
Cada vez que tal ouvia, a Títi Bita corria à cómoda para tirar a «pedra de cordial», de que riscava um pouco de pó, que ia misturar à água dum cálice, bebendo-a depois para acalmar os nervos.
O garoto, esperança dos Frontarias, no último ano do curso de D. Natividade, tornou-se mais avesso aos estudos que nunca. Não acompanhava as lições, não assimilava. D. Natividade, fuzilando o seu lorgnon, convocou a tia e, na sua voz agreste, declarou que o rapaz não adiantava. Títi Bita, quase frenética, justificou que o sobrinho era muito distraído, um nervoso, com as clássicas desculpas que estão na boca dos pais e dos encarregados de educação quando as coisas andam mal. Era apenas necessário um empurrãozinho. Matutando, pergunta aqui, indaga acolá, a Títi Bita descobriu a melhor forma para conseguir esse empurrãozinho. D. Natividade Antunes tinha o fraco da glutonice. Vai daí, encheu-a de compotas, de doce de camalenga, casca de toranja cristalizada, latas de goiabada e perada e copos de geleia de mão de vaca.
Assim, foi com um doloroso espinho atravessado na consciência que D. Natividade abriu uma excepção. Ficou aprovado o menino gordinho, sempre bem vestido e asseado. Títi Bita exultou, mas o Tio Timóteo torceu o nariz, bufando. O petiz passara sem mérito nenhum e lá se criava amimado, mole e madraço, com dinheirinho sempre na algibeira para comprar guloseimas, rodeado de colegas que exploravam a sua generosidade. Não se preparava, desta forma, um futuro grande Frontaria.
Títi Bita não admitia a menor dúvida quanto à inteligência do pequeno. Qualquer alusão em desfavor da sua capacidade punha-a como uma fera, ela que usualmente não matava uma mosca.
- Ele há-de ser alguém! Nunca-sa... eu-ça querubim. Francisco meneava que sim, olhando a medo para o tio foribundo. Concluídos os estudos na escola de D. Natividade Antunes, era
preciso prosseguir. Que futuro lhe haviam de dar? Já não podia ser «capitão de lorcha», pois a era dos lorcheiros morrera. Mandá-lo para o mar, para lugares humildes e subalternos, em barcos de ferro e de carvão, era demasiado rebaixante para um Frontaria. Para o mar, só para dono de navio ou comandante, como impunham a tradição e a honra da família. Doutro modo, era preferível secar em terra. Mesmo que planeassem para o moço a carreira do mar, ele opor-se-ia aos gritos. Uma pequena viagem até à ilha da Taipa esverdeava-lhe logo as faces. Então o trajecto para Hong-Kong assumia foros de tragédia. Vomitava, gemia, os olhos lacrimosos, num estado de terror paralisante. O Tio Timóteo enfurecia-se.
- É o sangue deteriorado da mãe. Aguou o dos Frontarias. É um desaforo.
Após reuniões em conselho de família, os dois irmãos concordaram que o destino de Francisco estava no funcionalismo ou no comércio. Havia de aprender contabilidade, saber inglês e ter umas noções de cultura geral.
Francisco mantinha-se alheio a tais discussões, como se não lhe dissessem respeito. Não se ralava com nada. Os outros que decidissem, pois a responsabilidade era deles. Sentia-se protegido, vivia com todos os confortos, não lhe faltavam moedas nos bolsos, com que gastar nas guloseimas e nas traquinices com os amigos.
Matriculou-se na Escola Comercial, ainda recentemente fundada. Ali, porém, os empurrões não foram muito eficazes. Não que Francisco fosse totalmente destituído de inteligência. Mas não estudava, tinha sempre o pensamento longe das aulas, aspirava estar ao sol, correr e flanar. Impressionava a sucessão de más notas. A tia atribuía a culpa à perseguição dos professores. Eram rancores antigos, dizia, vindos dos tempos áureos em que imperavam os Frontarias. O tio era mais realista. Não tinha ilusões, já classificara há muito o sobrinho. Possuía o cérebro bronco da mãe e era preguiçoso. Os mimos excessivos tinham dado aquele resultado.
Aos treze anos denunciou grande tendência para a boémia. Surrateiramente, espreitava o banho das criadas da casa e extasiava-se com os corpos nus, em lânguidas posições. Nunca foi descoberto e não passou disso, visto que ouvira nas conversas dos adultos esta recomendação: quem tivesse sensatez não devia meter-se com as serviçais da casa. Por outro lado, ainda alimentava pela tia o suficiente respeito e temia a cólera do tio. Aprendeu as «maldades» com os colegas da escola. Jovial e endinheirado, não gostando de ser desmancha-prazeres, deixava-se arrastar por eles. Não se mostrou mais o menino devoto de outrora. Ia à missa aos domingos por hábito e tradição, mas, mal se apanhava livre, juntava-se aos amigos, fugindo da companhia dos tios, com desculpas de antemão preparadas. Começou a vadiar, chegando a casa depois das seis horas. Não pegava nos livros e só a tia se admirou de que, no fim do ano, ficasse reprovado, como nos anos seguintes.
Aos quinze anos teve a sua primeira aventura amorosa, com a criada do vizinho, uma mocetona descarada e muito sabida. Dez anos mais velha, achava graça ter um menino fogoso e atrevido nos seus braços. Francisco experimentou os delírios da concupiscência com essa mulher, algo destravada, que lhe permitia desfazer a sua trança e amá-la sob o manto duro dos cabelos negros. O jovem saltava o muro do quintal do vizinho no escuro da noite, caminhava como um larápio cauteloso e penetrava na dependência, transformada em cubículo de amor.
Também desta feita nunca foi descoberto. Falavam o mínimo, em cicios, e o único rumor que podia alertar os ouvidos perros dos patrões seria o chiado das tábuas do leito. O cálido idílio durou seis meses. Os vizinhos mudaram-se para a outra ponta da cidade, lá para os lados da Barra, e levaram a criada. Nunca mais houve oportunidade para se encontrarem e Francisco esqueceu-se depressa dela. Mas não da aventura, que contava aos colegas, fazendo gala da sua virilidade, ganhando o prestígio de boémio.
Reprovações seguidas impuseram a recusa duma nova matrícula. «A Escola não é um hotel nem um salão de visitas», dizia, muito compenetrado, o director. A Títi Bita ofendeu-se, reverberou magoada contra tal veredicto, junto das amigas e do P.e Serafim, no adro da Igreja de Santo António. Era cega em tudo que concernia ao seu querubim.
Timóteo Frontaria, arrepelando os ralos cabelos, gemia, com D. Camélia ao lado, tentando apaziguá-lo:
- E agora, o que vamos fazer dele?
A atitude do tio provocava a hilaridade de Francisco. Por que é que insistia em obrigá-lo a estudar? Deixassem-no à vontade. Na sua inconsciência, bastava-lhe a protecção desvelada da tia, sem que lhe surgisse à cabeça que ela não era eterna.
O Tio Timóteo persistiu, porém. Procurou o Sr. Silvestre, que tinha uma escola particular que leccionava comércio e preparava futuros empregados públicos e particulares. Sabia inglês, era um competente contabilista e muito paciente. Mais de um jovem ficara-lhe a dever um sólido futuro.
O Sr. Silvestre era a bondade em pessoa. Voz fina, óculos caídos sobre a cânula do nariz, sorvendo, a todo instante, o rapé, tinha uma alma generosa. Fora empregado nas Alfândegas Chinesas e aposentara-se com uma grossa maquia. Poderia ingressar em qualquer firma estrangeira que abrir-lhe-ia os braços, mas preferia a sua casinha, atrás do Seminário, com a vista sobre o Porto Interior, onde no quintal devotava amor às rosas e crisântemos. Ensinava por prazer de ensinar, e não para ganhar a vida, que não precisava. Celibatário impenitente, além das rosas e dos crisântemos, tinha um par de cachorros fox-terrier, mansos de dia e perigosos de noite. Uma vez por mês convidava uma peipa-chai já serôdia para tocar alaúde em sua casa e passar umas horas de recato feliz.
O Sr. Silvestre acolheu Francisco e prometeu a Timóteo iluminar o cérebro duro do sobrinho:
- É preciso paciência. E persuasão.
Oito meses esteve Francisco a cargo do Sr. Silvestre. O mestre preclaro bem malhou, desejando, a todo o custo, cumprir a promessa.
Mas um dia dirigiu-se à Repartição da Fazenda e, frente a Timóteo, disse, pausadamente, sorvendo uma forte pitada de rapé:
- Meu querido amigo, falhei. Prometi rasgar o cérebro duro do Chico. Não consegui partir-lhe uma lasca. É o cérebro mais duro que encontrei. Ou melhor, não quer estudar. Não se rala. É atencioso, educado, bem-comportado - não fosse ele um Frontaria -, mas as minhas lições simplesmente não entram. Não deseja aprender... não mostra nenhum desejo de aprender. Eu sou um homem honesto, sempre me prezei disso. Não posso ganhar dinheiro desta maneira, quando não vejo progressos. Não posso enganá-lo mais a você e à D. Bita. Recuso-me a continuar com as lições.
Timóteo bem tentou dissuadi-lo, mas o honrado contabilista não se comoveu. A Títi Bita não lhe perdoou, porém. Passou a tratá-lo com frieza, o que era injusto. Francisco Frontaria é que ficou profundamente agradecido. Livrara-se da «chatice» e do sufocante cheiro de rapé. Sentiu-se como um passarinho que foge da gaiola, aspirando a liberdade.
Passou por outras mãos, em tentativas frustrantes. Tudo era em vão, o rapaz não mudava, teimava na madracice e parecia alimentar um mórbido prazer em desiludir o tio. No entanto, crescera, ultrapassara a idade escolar e houve que lhe arranjar um emprego, para ver se ganhava em responsabilidade.
A primeira colocação conseguiu-a pela mão do tio, como copista duma firma comercial. Transcrevia a limpo cartas comerciais, com a sua letra bonita, como se fossem impressas por um artista. Era a única coisa para que dava, e os seus superiores encomiavam o belo cursivo das palavras alinhadas e disciplinadas como um exército prussiano.
Durante dez meses tudo correu melhor do que podia esperar. Pareceu, enfim, gostar do emprego, apesar da modéstia do salário. De repente, começou a falhar. Não era pontual, faltava ao serviço alegando doença. Mas não havia doença nenhuma. Escapava para caçar narcejas e perdizes na «terra-china» e para pescarias ao longo das rochas de Macau. Não resistia a um convite ou a um «desafio» de amigos. Estes apreciavam a sua companhia porque era jovial, sempre bem-humorado, com saborosíssimas anedotas, e, sobretudo, muito liberal.
Vieram as primeiras reprimendas. Não era refilão. Curvava-se às censuras. Mas as sarabandas entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Não o amedrontava o porvir. Fosse qual fosse a desgraça, teria sempre o amparo da tia, um tecto confortável onde se acolher e uma mesa farta para o seu imenso bom apetite.
Não acalentando ambições, nunca o seu trabalho ia além de copista. E, quando copiava, copiava o que via. Não distinguia um erro de gramática ou de ortografia ou um lapso de distracção. Nem parava quando as frases não faziam sentido por falta de qualquer palavra.
- Eu sei lá! Está assim escrito no rascunho, não está? Eu escrevo o que vejo.
Em dias de boa disposição fazia trabalho limpo e escorreito, verdadeiras obras-primas de caligrafia. Mas em dias em que o seu pensamento vagueava muito longe, pedindo a rua e o sol, eram resmas de papel inútil que consumia.
Não adiantava nada dizer-lhe que se apressasse. Ia sempre à mesma velocidade, indiferente aos berros, à urgência e à impaciência que se geravam à sua volta. Não tinha interesse em agradar, nem tinha responsabilidades a acarretar. Vivendo com a tia, gastava mais do que auferia no emprego. Não se esforçava, adivinhando que era mais por consideração aos tios que ali se conservava do que por méritos próprios.
Ao lado da preguiça e da inconsequência pelo futuro firmara hábitos de estroinice. Contavam-se saborosas histórias a seu respeito, estava sempre em todas as pândegas, inevitavelmente nas transversais da Rua da Felicidade, nos bairros do amor, onde se tornou uma figura conhecida.
Esta estúrdia contínua era murmurada e exagerada, chegando aos ouvidos dos superiores no emprego, e reflectia-se na sua eficiência de copista. Fartaram-se dele. Um dia, por asneira grossa que excedia todas as medidas, forçaram-no a demitir-se. Aceitou logo, sem pedir desculpas, divertidíssimo com a solução.
Ambos os tios, desta vez, ofenderam-se. Era uma bofetada para as prosápias da família. Trinta anos atrás, se alguém ousaria semelhante passo! Eram logo pauladas de ferver, ameaças de morte. Mas, na actualidade, os Frontarias só podiam barafustar, sem qualquer outro resultado, com a agravante de não terem razão.
Quanto a Francisco, parecia o menos atingido. Assegurava que para ele até era um alívio, por estar livre da hora da entrada, de copiar montes de coisas, de acompanhar com suspiros o lento avançar dos ponteiros do relógio para a hora da saída. Não estava nada arrependido.
Isto acontecia porque o apoio da tia continuava inabalável. Dizia esta, tomando o seu cordial, para acalmar os nervos, que era a «invejidade». Toda a gente gostava de diminuir os Frontarias para se desforrar das «contas» do passado. Que contas, não concretizava.
Fechava os ouvidos ao disse-que-disse e repelia as menores insinuações que as estroinices do sobrinho suscitavam. O seu Chico, o seu querubim, tão bonzinho, tão devoto, tão cristão! Podia lá ser! O tio, porém, não era cego. Sabia das pândegas, das partidas do rapaz, dos pequenos escândalos a que dava ensejo, mais por volubilidade do que por maldade, com a sua eterna boa disposição e humor, facilmente influenciável, incapaz de objectar com um «não» aos companheiros das farras. No entanto, pateticamente, o tio não desistia. Arengava sermões moralizadores, a que o sobrinho se submetia, com ar contrito, mas que era enganador, porque, quando podia, deixava escapar um bocejo. Outras vezes, perdidas as estribeiras, berrava até ficar roxo. Tudo em vão. A irmã intervinha e neutralizava as fúrias, defendendo o seu querubim. Engalfinhavam-se e Francisco deixava-os a meio das discussões, para descer à rua, com a mão cheia de moedas de prata, para uma cerveja gelada, para uma copiosa ceia, de que não prescindia, apesar de desempregado.
Decorreram alguns anos ligeiros e inconsequentes para Francisco Frontaria. Era agora o contínuo da repartição onde trabalhava o tio, já que outras tentativas de emprego tinham falhado. Fora duro para o orgulho de Timóteo ter um sobrinho contínuo. Mas que remédio, se ele não dava para mais nada?
Agora, Títi Bita já não estava tão segura das qualidades do seu querubim. Não podia iludir-se mais com a realidade, que saltava à vista de todos. Reconhecia, no íntimo, que era a culpada. Amimara-o, estragara-o, permitira que os defeitos se desenvolvessem. Aceitava as censuras do irmão, cabisbaixa e lacrimejante. Chico era incorrigível.
A preocupação da velha senhora era casar o sobrinho. Não lhe parecia haver outro caminho. O casamento, a responsabilidade dum lar, assentá-lo-iam, numa vida serena e equilibrada, como tantos outros. Tivera as suas rapaziadas e já bastava. Tinha de haver um ponto final para tudo. Sonhava, por outro lado, ver crianças em redor, sentindo-se avó.
Francisco mostrava-se avesso a tais sugestões. Ficar preso pelas cadeias do matrimónio era coisa que não lhe entrava nos planos, se é que os tinha. Replicava que não estava ainda preparado para tal passo e era muito novo. Como se não tivesse já ultrapassado há muito os vinte e cinco anos. Portava-se como um rapazito e insistia em considerar-se como tal.
Mantinha a popularidade, não distinguia idades entre os amigos, permitia nos mais novos familiaridades inadmissíveis em quem fosse mais ajuizado. Para todos era o Chico. Para todos era «tu cá, tu lá».
Vezes sem conta regressava a casa, cambaleante e avinhado, com gargalhadas que abalavam a pacatez da rua. Provocava desacatos, molestando chineses, puxando-lhes a trança, inaudito insulto! As tropelias não as engendrava por espírito maldoso, mas sim para conservar a fama de engraçado e brincalhão.
Parava algumas vezes em esquadras policiais, donde saía incólume, depois de multas e apanhar grossa sarabanda. Numa ocasião, sem ter culpa directa num desacato, decidiu enfrentar o guarda «mouro», para salvar o verdadeiro culpado, que se escapulira. Foi mesmo arrastado para a esquadra, com o polícia, no seu português estropiado, a narrar o incidente ao graduado de serviço. Foi lançado numa cela, à espera de decisão superior. Lá acudiu a tia, chorosa, a implorar aos poderes constituídos que relevassem as leviandades do sobrinho, que tão nobremente aceitara a responsabilidade da «brincadeira» sem ser o verdadeiro autor. Eram estouvanices fruto da juventude e da orfandade, o sangue degenerado da mãe que não fora lavado convenientemente e que influía nos seus actos, precipitando-o na prática de feitos que não estavam na sua educação nem na sua «ilustre ascendência». Chico abespinhou-se com o tom implorativo da tia e das justificações, que o reduziam a um petiz de seis anos. Mas não era afinal o que ele teimava em ser? O chefe da esquadra apiedou-se da senhora e deixou o estouvado partir, com uma nova multa e uma descompostura de velho tarimbeiro em quarto fechado. Francisco partiu, com as orelhas a arder e uma prevenção clara de que não tornasse a voltar à esquadra, que então a coisa seria muito séria.
Daí em diante foi um bocadinho mais prudente, mas não evitou provocar lágrimas e queixumes à tia. Por vezes tinha rebates de consciência, vinha-lhe o arrependimento. Gostava dela, não podia vê-la prantear. Devia todo o seu bem-estar a essa mulher rechonchuda que o criara e lhe devotara uma ternura que só podia equiparar-se à duma mãe. Prometia, então, corrigir-se, mudar de rumo e até lhe consentia arranjar uma noiva, só para lhe trazer um sorriso ao rosto macerado.
Mas voltava quase logo a reincidir, quando os amigos apareciam com incitações de sereia. Não resistia a uma palavra lisonjeira que lhe exaltasse o amor-próprio. As juras eram esquecidas, saía com novas moedas de prata e embrenhava-se de novo na paródia.
Julgava-se dotado de grande piada, dum inesgotável humorismo. Empenhava-se em narrar situações cómicas em que era o protagonista, mentia no seu exagero, sem se lembrar de que a sua lábia ia perdendo crédito. Adorava ser o centro de atenções, delirava quando o apodavam de «porcalhão» e quejandos epítetos. Era sempre o bobo das festas, ficava em êxtase com as gargalhadas em redor ou palmadinhas nas costas, sem discernir, na sua boa fé, que estes gestos muitas vezes escondiam escarninho e incredulidade. Sendo uma das principais figuras da época do Carnaval, prolongava esse Carnaval pelo resto do ano, sem avaliar que se transformava numa figura ridícula de anedota.
As suas aventuras eram conhecidas, comentadas e aumentadas pela má-língua do burgo. Onde, então, a noiva para ele? Ninguém o queria, pois nenhuma moça esperaria por um marido daquele quilate, palhaço de todas as festas e reuniões. Esta fama mais se fincou num «chá-gordo», todo protocolar e solene, onde se misturavam, entre os convidados, a gema da sociedade macaense, os altos funcionários da administração e estrangeiros. A certa altura, a filha prendada da casa, a quem festejavam a maioridade, tocou pesadamente, por imposição do pai, alguns trechos de Chopin. Era uma autêntica «chatice», os convidados a olhar resignadamente uns para os outros. Quando terminou, recebeu a mais polida salva de palmas, e, no momento em que os presentes iam dispersar, Francisco apareceu, envolvido numa cortina azul de damasco, a fazer-se de odalisca, dançando e contorcendo-se langorosamente. Foi uma cena hilariante. Quebrou-se a solenidade tediosa da festa, animou-se tudo, mas o dono da casa engoliu furibundamente o atrevimento, a filha festejada amuou por ver a sua habilidade de pianista esquecida. O Tio Timóteo, que sofrera um choque, mais a esposa excelsa, abalaram pouco depois, por não suportar a vergonha. É claro que Francisco foi para sempre riscado daquela casa.
Para o disciplinar, Timóteo Frontaria colocara-o como contínuo da repartição. Ao menos, estava debaixo da sua vigilância. Mas que contínuo era aquele que se apresentava por vezes melhor vestido que o chefe, com os fatos sempre impecavelmente passados a ferro, gravatas vistosas, colarinhos engomados, faiscantes de brancura? Francisco não compreendia muito bem as hierarquias e era uma fonte de embaraço para o tio, que rugia, em vão, a orelhas moucas.
O sobrinho temia-o. Havia um respeito visceral pelo homenzinho nervoso e saltitante. Cumpria, por isso, o serviço naquilo que era estritamente necessário. Mas execrava o lugar, não por se sentir humilhado com a categoria, mas por ter de trabalhar e de respeitar a hora da entrada e da saída. Como em outros empregos, sentia-se como um passarinho preso na gaiola. Persistia em não acalentar a menor ambição por uma melhoria na hierarquia, pois gastava sempre mais do que recebia e tinha a fiel protecção da tia, que era a garantia contra todas as possíveis desgraças. Assim vivia, à sua maneira, Francisco Frontaria felicíssimo.
De repente, a saúde da Títi Bita começou a falhar. Como toda a gente antiga de Macau, valeu-se primeiro das mezinhas e tisanas caseiras. Não melhorou. Mandou chamar o «mestre-china», o curandeiro e o ervanário da casa, de preferência ao médico português, vindo laureado pela Universidade de Coimbra. O «mestre-china» era evidentemente bom para a cura de sarampos e desinterias. Não falhava com os seus chás de ervas medicinais, que escolhia a dedo e a olho, no escuro das drogarias chinesas, cheias de gavetas e boiões onde pairava fortemente o cheiro de alcaçuz. E ninguém rivalizava com ele na cura do reumatismo e da asma. Pelo menos, era esta a fama que o consagrava. Havia ainda o Padilla «espanhol», que tinha nome para certas doenças, mas este estava riscado, porque para a Títi Bita ele era um nojento.
O «mestre-china» não atinou com a doença da boa senhora. Ela definhava a olhos vistos, esverdinhada, queixando-se de dores no peito e no ventre, cheia de terror e de lamentos, cada vez mais entregue às suas devoções.
Timóteo interveio. Ralhou à irmã e exigiu um médico português. Não havia cabimento naquela desconfiança pelos milagres da medicina ocidental, que só revelava uma crassa ignorância.
O clínico veio, com todo o seu prestígio de português de Portugal. A Títi Bita respondeu-lhe timidamente às perguntas, misturando o vernáculo com frases do mais retinto patois. Timóteo preencheu-lhe as lacunas. O médico examinou-a longamente, pleno de simpatia, franzindo, de vez em quando, o sobrecenho, deixando os presentes em suspenso. Depois prescreveu a receita com imensas garatujas, a pobre senhora aflita, a acompanhar-lhe os movimentos.
Cá fora, o médico aconselhou a Timóteo o internamento da irmã no hospital. Ali havia mais assistência e cuidado e o estado da doente exigia isso mesmo. Se o tivessem chamado mais cedo... Mas, para a mentalidade da época, só se ia ao hospital quando se esgotavam todos os recursos. Timóteo soltou um gemido, como se recebesse uma pancada, mas Bita, posta ao corrente, negou-se terminantemente a aceder. Baixar ao hospital era como morrer. Ninguém a demovia do contrário.
Resignou-se o clínico, protestando contra aquela ridícula superstição. Vinha todos os dias vê-la, prescrevia remédios, mas não havia melhoras.
Durante todo esse tempo viveu Francisco sem atinar com a gravidade da situação. Para ele, a Títi Bita era eterna, rija como um penedo. Não lhe passava pela cabeça pueril que a saúde dela pudesse quebrar-se, num doloroso remate e de consequências terrificantes para ele. Era de natureza optimista. Todos aqueles males eram passageiros, o curandeiro um sapateiro, o médico um charlatão.
Volúvel e inconsciente, quase não fazia companhia à doente. Detestava o ar sorumbático das amigas da tia e das visitas, os cochichos, o caminhar nas pontas dos pés e os rezos frequentes. Enchia-o de repulsa o cheiro pesado da doença e dos remédios. E havia um instintivo terror em contemplá-la exangue, uma pilha de ossos, o palor esverdinhado. Ficava junto dela alguns minutos e achava logo desculpa para se evadir do ambiente triste e dos gemidos, nem sequer reparando no amor e na ternura que transpareciam nos olhos da doente, mal ele lhe surgia pela frente.
Prosseguiu no mesmo ritmo de boémia, regressando a desoras, entrando no quarto com o habitual barulho pelo soalho velho, sem respeito pela doença e pelo descanso da tia, que não pregava olho enquanto não o soubesse recolhido. Atirava os sapatos com fragor, lavava-se ruidosamente e urinava com estrondo no penico que tinha sempre debaixo da cama. Não fazia de propósito, fazia-o com a naturalidade de todos os dias, impensadamente. Ficava admirado quando a enfermeira contratada ou a criada batiam à porta, a pedir-lhe mais comedimento.
Só realmente compreendeu o estado da tia quando ela teve mesmo de baixar ao hospital. Estava mesmo mal, gemia baixinho, o rosto ressequido, a pele baça e empergaminhada, o pescoço seco, que, no entender da criada chinesa, significava morte, os olhos arrancados brilhando de estranho lume.
A notícia correu célere pela Cidade do Nome de Deus. A velha Bita Frontaria, a amável D. Bita Frontaria, estava por dias. Um dos últimos abencerragens duma ilustre família ia desaparecer para o jazigo de S. Miguel, para junto do ex-grumete patriarca e sua prole de lorcheiros heróicos. Começou uma verdadeira peregrinação para o Hospital de S. Rafael, a perguntar pela sua saúde e a desejar-lhe melhoras. Eram visitas consoladoras mas cansativas. A vaidade de Timóteo e da sua esposa estava satisfeita. Ainda o nome dos Frontarias era algo naquele burgo secular.
Francisco, então, dobrou-se de medo. Agora já não tinha mais ilusões. A tia, que para ele fora mais que uma verdadeira mãe, morria. Não largou mais a beira da cama, num desvelo que comovia. Lembrou-se, então, de Deus e de joelhos rogava por um milagre. A sua devoção era genuína, muito ingénua, batendo os dentes de terror pela calamidade que impendia sobre ele. Reconhecia humildemente que não sabia andar por este mundo sem ela.
Títi Bita teve a suprema consolação de vê-lo a seu lado até o fim. Debateu-se ainda por dez dias. Num dos últimos momentos de plena lucidez, e a despeito do sofrimento que a carcomia, dirigiu-lhe palavras de estímulo. Obrigou-o a jurar que seria um homem de bem e que havia de dar um outro rumo à vida. Exigiu, depois, outro juramento. Que havia de casar-se, constituir família, ser um cidadão exemplar. E que escutasse o tio. Apesar do seu exterior desabrido, era o seu melhor amigo. E a tia Camélia também, embora o seu ar pomposo a tornasse aparentemente intolerável como um purgante. Não se esquecesse também de que era a única esperança de todos de continuar a família.
Pranteando sem controle, Francisco prometeu tudo. Naquele instante revelava-se sinceramente contrito dos desgostos que infligira à moribunda. Esmagava-o a ideia de ficar só no mundo. Tinha o Tio Timóteo, mas não era a mesma coisa. As relações entre eles eram de cão e gato e sabia que não podia esperar do parente mais velho a generosidade e o coração aberto da Títi Bita.
Ela extinguiu-se de repente, no preciso momento em que o quarto, por um desses acasos, se encontrava vazio de gente. Descobriram-na como se estivesse a dormir, o rosto devastado mas sereno. O desespero de Francisco explodiu em altos berros e arrepeles de cabelo. Não fazia teatro. Nunca se vira coisa semelhante, murmuravam os presentes, consternados. E a dor foi tão comunicativa que o mulherio que pejava o quarto também o imitou. Surgiu um berreiro de carpideiras, a ponto de o director do hospital aparecer para lembrar severamente a todos que havia outros doentes a requererem silêncio. O Tio Timóteo, engolindo as lágrimas, sacudiu o sobrinho, que estrebuchava ranhoso.
- É preciso chorar com a dignidade e a nobreza dos Frontarias. Isto que estás a fazer parece um miar de gato ao luar, cheio de cio.
Durante o dia, o dobre sinistro dos sinos das igrejas paroquiais ecoou pelos céus da cidade. O enterro foi muito concorrido, com muitas grinaldas e muito povo. A tristeza de Francisco comoveu. Pela primeira vez, centro de atenções, não foi um palhaço. Aliás, não houve quem duvidasse da sinceridade do seu desgosto.
Quando menos se esperava, foi achado o testamento da Títi Bita, elaborado anos atrás, em tabelião público, sem conhecimento da família. Verificou-se que ela, afinal, deixara um razoável «pé-de-meia». A casa onde vivia, um outro prédio no Baixo Monte, um terreno no sopé da colina da Guia, acções da Bolsa de Hong-Kong, valores em dinheiro, tais como dois saquinhos contendo moedas de ouro e prata. Fora o recheio da casa, havia algumas jóias. Tudo isto deixava para Francisco. Ao irmão, apenas alguns objectos de valor sentimental, o jogo de talheres e pratos, restos da «casa-grande». No testamento cerrado dizia que tomara tal decisão, já que o irmão tinha fortuna própria e o sobrinho nada possuía.
Timóteo enfureceu-se com o acto da irmã. O que ela herdara dos pais fora modesto. Fora ele, Timóteo, quem, ao longo dos anos, desinteressadamente, como um bom e honesto administrador, cuidara, com desvelo, dos bens da irmã, aumentando-lhe a fortuna. E a paga era aquela. O que mais lhe doía era que o mobiliário, também restos da «casa-grande», nem isso lhe fosse destinado.
No entanto, submeteu-se, com a morte na alma, por ver tanta riqueza acumulada parar nas mãos estouvadas do sobrinho. Tentou controlá-lo, sugerindo continuasse a administrar os bens.
Mas Francisco, retemperado do choque e subitamente rico, não consentiu. Aconselhado pelos amigos, que viam nele uma «mina», resolveu fazer finca-pé ao tio. Com a segurança que lhe dava o dinheiro, foi insolente pela primeira vez, determinado em vingar-se dos berros e das sarabandas passadas. Mandou-o simplesmente «à fava», imitando-lhe comicamente o ar empertigado. E mais. Abandonou o lugar de contínuo, que não se compadecia com a sua posição de novo-rico. Houve um teatral corte de relações, o tio chamando-o de «ingrato», ele a rir-se-lhe na cara.
- Se julgas que vais herdar do meu dinheiro, enganas-te. Nem uma sapeca!
- Rua...
- Nem a mais desprezível sapeca! Seu bandido... seu mofino de homem!
A segurança do dinheiro apagara-lhe o medo visceral pelo parente. Abriu a porta e, numa vénia jocosa, apontou-lhe a rua. Incinerado de ira, o tio saiu, não cuidando das pedras soltas da calçada e dos seus buracos. Torceu um pé num deles e lá foi caminhando a coxear, acompanhado pelo riso sardónico do sobrinho.
Foi um período triunfal para Chico Frontaria. Já ninguém o chamava de Francisco. Gostava de ser o Chico para todos. Nunca fora tão popular, tão rodeado de amigos. No princípio guardou recato e o luto, em respeito pela tia. Certas noites ficava cheio de terror por falta dela. Mas logo que se habituou à ausência e tirou o luto, começou a saborear os primeiros frutos da herança. Modificou-se.
Adquirira uma nova personalidade. Tinha um rosto simpático e agradável, com uma boa fileira de dentes sólidos e brancos. Meão de altura, o corpo pendia para o cheio, embora não o pudessem classificar de gordo. Andava com desembaraço e nas faces ainda não havia vincos de dissipação. Se não fosse o seu carácter tão inconsequente, seria um bom partido para qualquer moça casadoira que não quisesse um marido com muitos estudos.
Pouco depois do período de luto, encurtado por instâncias dos amigos, escandalizou a rua pacata, trazendo para casa, onde persistia ainda o cheiro de benjoim e de incenso da tia, a equilibrista alemã do circo instalado no campo de Tap-Seac. Todo enfarpelado no fato de linho branco e magnífico chapéu colonial tipo inglês, passeou com ela, ao domingo, depois da chique missa das onze horas da Sé, pela Rua Central, a visitar as lojas dos «mouro-mouros», para comprar ostensivamente umas ligas vermelhas que ficavam a matar nas divinas pernas da láctea teutónica. As senhoras e as meninas com quem se cruzavam enfronhavam um carão duro de moral burguesa ofendida, enquanto os cavalheiros, no íntimo invejosos, protestavam contra o despudor. Eram extravagâncias, frutos de apostas para espantar os amigos.
Estes, que o elogiavam e lhe comiam os favores, exaltavam-lhe a virilidade comprovadíssima, incutindo-lhe créditos e fama de garanhão que entonteciam o seu amor-próprio. A certas horas da noite, naquela casa outrora tão pudica, escutava-se o dedilhar do alaúde e do «piano de cordas» das pei-pa-chais. Trazia no bolso uma garrafita com mel que utilizava, dizia, numa frase poética que ninguém sabia donde aprendera, para desuntar «os bicos de jade das rolas idílicas» para melhor os saborear. Gabava-se de experimentar perversões caras, vícios refinados. Havia que manter uma reputação, estoirava, todo ufano, narrando as suas aventuras a um auditório atento e divertido, que acreditava ou fingia acreditar nelas. A sua gargalhada, forte e reconhecível à distância, tornou-se célebre. Os apodos desdenhosos de «palhaço» e de «bobo» foram substituídos pela expressão «novo-rico», que impunha respeito, pelo menos à sua frente.
O seu principal amigo era o Silvério Almeida, bonito rapaz, dissipador e conflituoso, que se autonomeara guarda-costas de Chico. Não o largava para tirar o máximo proveito da largueza e inconsciência do novo-rico. Era ele quem propunha as «loucuras», organizava as farras e as pândegas, enquanto ia sugando a confiança e a simpatia do ingénuo.
De vez em quando surgiam a Chico rebates de consciência, sobretudo quando, em noites de pesadelo, lhe aparecia a tia, armada duma vassoura-de-coco, para castigá-lo. A Ti ti Bita mostrava uma cara distorcida de cólera, diferente daquela que conhecera em vida. Então, corria a penitenciar-se, humilde, diante do P.e Serafim, o confessor favorito de D. Bita e que ensinara também Português, História e Geografia ao menino preguiçoso, à base de carolada. Recebia, então, ralhos tremendos e ameaças dum inferno onde «as chamas eram mais rubras que o mais rubro que havia sobre a superfície da Terra».
Desaparecia da circulação, encerrava-se em casa, limpava a alma dos vestígios do pecado, com as compridíssimas orações que o padre lhe aplicava como penitência. Mas, decorrida a crise, mal o Silvério e os outros, para não perderem tão pródiga «mina», lhe marravam com os pontapés à porta, aos gritos e assobios, esquecia-se das promessas e juras, ei-lo outra vez numa roda-viva, desculpando-se de que estava sempre a tempo de se arrepender.
Era um doidivanas no Carnaval. Um mês antes do Entrudo propriamente dito, a «cidade cristã», tão pacata e tão caracteristicamente diferente da «cidade chinesa», acordava da sua dormência. Os «assaltos começavam então, hoje numa, amanhã noutra casa, surpreendendo o «assaltado» muitas vezes já recolhido na sua cama.
Segundo uma velha tradição, nenhum se recusava a receber, embora fossem arrancados do aconchego do leito, em pleno Fevereiro, com musicata à porta, as «máscaras» em risonha impaciência. Com a fidalga hospitalidade que era o timbre da época, abriam-se as portas, afastava-se o mobiliário da sala ou salas, formava-se o espaço improvisado para se marcar a quadrilha e bailar a contradança.
Os criados despertos corriam aos merendeiros e às padarias para adquirir o que houvesse para uma ceia. Ninguém era exigente quanto a isso, uma canja bastava, mais uns pastéis de carne, bolos e biscoitos. O objectivo era a folia, gastar umas horas de alegria e despreocupação.
As «tunas» ou grupos de músicos esfalfavam-se nos bandolins, nas violas e violinos, nos eukaliles e outros instrumentos, em marchas e valsas, entre risadas e brincadeiras carnavalescas. Antes de chegarem à casa que iam «assaltar», percorriam as ruas tortuosas e estreitas da velha «cidade cristã», passando obrigatoriamente pela Praia Grande, com dezenas de mascarados atrás, em cauda, desfolhando brejeirices, com grande espanto de circunspectos chineses que não tomavam parte e, no íntimo, censuravam aquele cortejo de loucos, próprio da «gente bárbara».
Chico Frontaria distinguia-se na altura, parecia outro. Tornava-se praticamente o organizador dos «assaltos». Elaborava a sua estratégia, escolhia as casas onde havia boa ceia, prevenindo-as de antemão ou caindo de surpresa. Tinha a sua própria «tuna», planeava o número de mascarados, dava conselhos e mesmo ordens, como um general à tropada obediente. Era magnífico, vivendo a sua hora. Sabia como ninguém marcar a quadrilha ou a contradança. E dançava a polca e a mazurca como um mestre. Era o rei dos bailes, a alma das festas, com ideias felizes que acertavam em cheio.
O seu traje carnavalesco preferido era o «chacha-velha». Debaixo do disfarce tornava-se uma «máscara» impagável, com uma graça que merecia os melhores encómios. O seu exímio patois derramava-se em dichotes, nos trocadilhos e nas negaças. Educado de mais, nunca se aproveitava do anonimato da máscara para insultar e rebaixar alguém, como uns tantos faziam. Para ele, tal procedimento era a negação do espírito carnavalesco. Quando decidia brincar, a sua voz roufenha de velha soava irónica e maliciosa, sem envergonhar a pessoa atingida. Só uma vez abrira excepção e nunca mais repetiria a proeza. Quando encontrava alguém pela frente que pudesse sustentar, taco a taco, as suas investidas, retrucando no mais vernáculo patois, então era uma delícia. Juntava-se uma multidão em volta, para assistir, às gargalhadas, ao duelo divertido.
Amigos e conhecidos perguntavam muita vez como é que aquele homem, tão bom organizador dos «assaltos» e das tunas, impondo a sua opinião, cheio de planos e sugestões que a ninguém acudiam, podia ser o mesmo não-te-rales hedonista que encarava o futuro com a mais pasmosa imprudência, avesso ao trabalho e a qualquer rumo decente na vida. Repelia com risadas estralejantes os conselhos ajuizados, numa entrega total em futilidades. Quanto podia durar aquele esbanjamento contínuo, sem qualquer contrapartida?
Decorrido o Carnaval, desaparecia todo aquele espírito empreendedor e imaginativo. Enquanto os outros retomavam o fio dos problemas, interrompido por uns dias, Chico mergulhava na sua boémia, no meio das pei-pa-chais, actrizes do «auto-china» e caras cortesãs. Só por milagre não tinha outros vícios, como o jogo e o ópio, que experimentara mas repelira.
Para as boas famílias era um homem marcado pelo estigma da dissipação. A sua auréola de perdulário trancava-lhe as portas decentes, fosse ele Frontaria ou não. Antigamente, ainda havia a desculpa da juventude. Mas à berma dos trinta anos já não se encontrava justificação alguma. Essa reputação atingia Timóteo e sua esposa pedante, que, por isso mesmo, faziam uma vida recatada, para não sentirem mais vergonha.
Atreito a aceitar apostas para elevar mais alto a sua reputação de endiabrado, era capaz de ir ao extremo da audácia, sem meditar as consequências. Duma feita, na «cidade chinesa», em pleno coração do Largo do Pagode do Bazar, praticou uma proeza de mau gosto, entre muitas.
Em frente do templo organizara-se uma feira ruidosa que ia pela noite fora, com muito povoléu a comemorar uma data do calendário lunar. Era uma festividade retintamente chinesa, com o pagode cheio de fiéis que entravam e saíam, alumiado a petróleo e miríades de velas e lampiões. O odor de sândalo dos pivetes pairava por todo o largo. Vendilhões ambulantes enxameavam, ao lado de tendas de sopa de fitas e doutros comes, como também adivinhos, dentistas, pregadores de unguentos milagrosos, contadores de histórias, músicos, acrobatas e saltimbancos.
Chico circulava por ali, com o seu grupo, no à-vontade de quem conhece intimamente o Bazar. A certa altura parou junto a uma massa compacta de povo que pasmava em redor dum estrado, onde contorcionistas se exibiam. Quis furar para se aproximar da jovem que conseguia dobrar o seu corpo, transformando-se numa bola. Ela e outros, a cada movimento, arrancavam exclamações de admiração. No entanto, cinco filas de gente impediam Chico de satisfazer a sua curiosidade. Três chineses, à sua frente, não ligaram nenhuma ao seu pedido, cerrando até a fileira.
Irritado, a princípio, como um menino mimado, habituado a ver realizados os caprichos, acabou por sorrir. Tivera uma ideia e comunicou-a aos amigos. Dois deles opuseram-se, porque era perigoso «brincar» com chineses no imo do Bazar. Silvedo, que empurrava sempre Chico para todas as leviandades, afirmou:
- Você não é capaz disso. Aposto...
O repto aceito, Chico tirou do bolso uma guita e avizinhou-se uns centímetros atrás dos três mirones, totalmente absorvidos pelas contorções da moça, de gritante sensualidade, rolando pelo estrado. Cada um dos mirones ostentava uma trança comprida, que descia até o fim das costas. Os três eram basbaques que vinham das aldeias do interior da «terra-china» e se espantavam pelas «maravilhas» da cidade.
Defendido pela barreira dos amigos e pela obscuridade que prevalecia no lado deles, Chico, com subtileza e imensa destreza, atou as pontas das três tranças com a guita, num nó único e complicado. Os amigos tremiam, porque mexer na trança dum chinês era insultante agravo. As vítimas, inteiramente dominadas pela arte da moça, não deram por nada.
A um sinal de Chico, afastaram-se discretamente, a uma distância suficiente para acompanhar o resultado. Perto deles, um dentista ambulante, à luz duma lâmpada de petróleo, arrancava dentes a um desgraçado que soltava urros.
A exibição dos contorcionistas terminou e, quando a multidão se dispersava, ecoou um alarido dos homens das tranças presas, que puxavam, barafustavam e soltavam palavrões. A confusão provocada deu tempo a que Chico e os amigos ganhassem seguramente a Rua Nova d’El-Rei e desaparecessem, a caminho da Rua da Felicidade. Logo que se aperceberam de que ninguém os seguia, pararam e torceram-se em risos monumentais, excepto o mais sensato daquele grupo de doidivanas.
- Você não me apanha pela segunda vez. Se fôssemos descobertos, teríamos um grave sarilho. Era um mundo atrás de nós.
Era verdade. Fora uma «brincadeira» bem pesada, a raiar pela imprudência. Mas Chico, declarado herói da noite, vencera a aposta. A proeza, no dia seguinte, foi espalhada pela «cidade cristã», nos sítios que costumava frequentar, para entrar na lenda doutras histórias do Frontaria leviano. Chico, no entanto, durante muito tempo, não se atreveu a percorrer o Largo do Pagode do Bazar.
Outra proeza nos anais da sua estúrdia foi a seguinte:
Havia um homem, a aproximar-se dos quarenta anos, funcionário modestíssimo e pacato, figura insignificante, que tivera a imprudência de casar com uma mulher saudável e fogosa, quinze anos mais nova que ele. Por que se casara depois dum prolongado celibato, ninguém percebia. E muito menos se percebia por que se envolvera com a Ermelinda Soeiro, que tinha fama de promíscua e dera várias cabeçadas. O casamento não a modificara. Sabia-se que traía o marido. Andava arrebicada com luxos e jóias que o vencimento do funcionário modestíssimo não permitia. Apontavam-se-lhe os amantes, todos sargentos metropolitanos da guarnição e da Guarda Cívica. O marido tratava-a como a uma princesa, nada via e de nada desconfiava, um pau-mandado pela mulher. Tinha o nome impossível de Marmétrio Pinto, mas a’terra alcunhou-o de Chibo Manso.
Mas, para os filhos da terra, aquela preferência pela gente de fora era uma constante provocação. Todas as tentativas para seduzi-la e tirar proveito dos magníficos pomos que pareciam querer sempre saltar do peito, e doutras redondezas opulentas dum corpo extremamente favorecido, baqueavam inúteis. Ela repeli-as com desdém, achava por bem não se comprometer com a «sua própria gente». Chico apostou que havia de quebrar esse tabu.
Tudo isto nascera por Chico e dois amigos, entre os quais o inevitável Silvério, terem ido espreitar a casa dum dos sargentos preferidos da Ermelinda. O lugar era ermo e havia uma frondosa árvore-de-são-josé providencialmente plantada a trinta metros da casa. Com nós seculares e ramaria basta, era fácil escalá-la. Por ali subiram os três curiosos até atingir a altura da janela escancarada. Os amantes mal podiam adivinhar olhos indiscretos que os observavam até nos íntimos pormenores. O que viu fez crescer a água na boca de Chico. Estavam os três abalados, ao sentarem-se num botequim para uma cerveja. Silvedo, com ar canalha, imprecava contra a mulherona, que não passava cartão a nenhum conterrâneo. Aquilo estava atravessado no Silvério, que era um gabarola e convencido. Chico ripostou que tê-la-ia nos braços. Abespinhado, Silvério perguntou-lhe como. Havia de ver, respondeu Chico, e a aposta fez-se.
Começou a empregar a táctica de amabilidade junto de Chibo Manso. Descobriu que, além da mulher, tinha a paixão pela «sueca». Um dia, na rua, interrompeu-lhe o caminho, para lhe falar sobre este jogo de cartas em que era exímio. Como gostava da modalidade, desafiou-o para uma partida. O homem, ingénuo, lisonjeou-se com a atenção do Frontaria rico, que descia até ele, e aceitou imediatamente. Foram ao botequim do João Tomé Zacarias e a partida realizou-se com estrondo. Chibo Manso era um mestre, mas Chico não lhe ficava muito atrás. De propósito perdeu, cometeu erros e deixou que levasse uma sova. Terminada a pugna, Chico declarou-se vencido, mas exigiu uma desforra. Chibo Manso, entontecido com os elogios, aceitou-a com entusiasmo. A vitória tornara-o loquaz e eufórico.
A desforra fez-se em casa de Chico, no conforto e luxo da sala. Chico sabia que Chibo Manso iria descrever o ambiente à mulher. Os louros, de novo, foram para o funcionário insignificante. Os outros parceiros eram cúmplices de Chico.
Houve mais partidas. Agora, Chibo Manso proclamava que tinha o seu melhor amigo na pessoa de Chico. Não foi difícil a este sugerir um jantar, estendendo o convite à «excelsa esposa», cuja presença lhe dava uma honra suprema. Tinha um cozinheiro de mão cheia e uma criada entradota mas impecável.
Ermelinda, que nunca teria entrado naquela casa em vida da Títi Bita, apareceu soberbamente aperaltada. Não estava habituada a visitar «fidalgos» e tudo que viu impressionou-a. Gostou do jantar e gostou dos pequenos luxos. Os talheres de prata, louça fina, tapetes na sala e na casa de jantar, cadeiras e poltronas forradas para regalo do mais exigente, cortinados de cassa fina, a criada cortês e serviçal.
Chico reunira parceiros para Chibo Manso. Como dono da casa, não podia deixar sozinha a bela dama, a bocejar, pois detestava a «sueca» e outros hábitos do marido, excepto a sua cegueira.
Chico ficou, portanto, sozinho em campo. Sabia falar e dirigiu-se-lhe em português, e não em patois, pois Ermelinda, com o convívio terno dos sargentos, fingia não compreender o dialecto da terra. Educado, rodeou-a de maneiras finas, aprendidas com os tios. Ela, criada num berço modesto, afeita à simplicidade do marido, que comia às refeições de camisola e cuecas, e à rudeza dos sargentos, que a desejavam mais para a cama do que para amabilidades de salão, foi presa muito vulnerável para as investidas do D. Juan macaense. Chico deu-lhe a sensação de ser uma senhora da Praia Grande ou de S. Lourenço. Era bom conversador, ninguém lhe podia negar esse talento, e entreteve-a com histórias engraçadas, oferecendo-lhe uma noite inesquecível. Quando podia, a voz impregnava-se de inflexões meigas. A certa altura, ela perguntou-lhe:
- Então, com tudo isto... e sozinho?
- Oh, a mulher dos meus sonhos não a encontrei ainda. Ou melhor, já tem dono.
O peito mágico de Ermelinda arfou, subindo e descendo como o movimento das ondas, enquanto revirava os olhos para o mobiliário, as cortinas e os tapetes. Depois, foi um suspiro longo e envolvente. O perfume forte e barato entonteceu-o, à mistura com um escondido cheiro a sovaco. Mas Chico não adiantou mais, com receio dum passo falso ou um exagero que estragasse o plano. E assim continuaram, ele educadíssimo, ela ouvindo e sorrindo. Quando se despediram, Chibo Manso ia meio aéreo com o êxito, os vinhos e os charutos. Ganhara e não podia conter-se na sua boa disposição. Ao apertar a mão de Ermelinda, Chico sentiu-a quente e prolongada, enquanto os profundos olhos negros pareciam mais dois focos luminosos.
Os amigos, tontos com a derrota nas cartas e desgostosos com as moedas a menos, indagaram:
- E o jogo de você? Ao menos conseguiu alguma coisa?
- Tenham paciência. É preciso esperar.
Como soubesse que ela apreciava rosas, mandou-lhe no dia seguinte um ramalhete bonito, com as melhores rosas do quintal, agora um pouco abandalhado por falta da mão cuidadosa e devotada da tia. Ermelinda agradeceu com um bilhete de letras gordas e erros de ortografia. Como ela era gulosa, enviou-lhe muchi-muchi, rebuçados de ovos e talhadas de «bebinca de leite».
Não tardou em vir o convite de Chibo Manso para jantar em sua casa, convidando, além de Chico, os mesmos parceiros da «sueca».
Afirmava que a mulher ia preparar pastéis de bacalhau e um coelho à caçadora como ninguém confeccionava em Macau. Naturalmente, aprendera estes pratos portugueses na intimidade de alcova com os sargentos da guarnição e da Guarda Cívica.
A casa de Chibo Manso era pobre e desmazelada. Ermelinda só se preocupava consigo mesma. Vestia-se e arrebicava-se bem, mas não tinha paciência em ter uma casa bonita. Os arranjos que pusera na salita para receber os convidados davam impressão nítida de última hora. O desleixo chocou Chico, mas era evidente que não estava ali para admirar a ordem das mobílias nem a limpeza dos cantos e do chão.
Em contraste com a pobreza e o desmazelo da casa, a dona apresentava-se apetitosa, braços meio nus, um decote no peito que deslumbrantemente fazia adivinhar a mimosa opulência dos seios, a cintura apertada, a realçar as ancas de poldra com cio. O vestido comprido, a cada movimento estudado, deixava ver as botinas novas, que aumentavam a sua sedução. Era um pêssego maduro ofertando-se para ser saboreado. Com que direito ia toda aquela suculência só para o exclusivo dos sargentos de enormes bigodes? Chico sentiu ferver o sangue, logo que defrontou aquele portento de escultura.
Ou seria naquela noite ou perderia a aposta. Os amigos não o tinham poupado, sobretudo o Silvério, a caminho do lar de Chibo Manso. Era toda a sua reputação em jogo e, desse por onde desse, tinha de manter essa reputação.
Mal os convidados entraram. Chibo Manso arrastou-os para a mesa do jogo, já preparada. Esperava a mesma sorte para ele e a mesma derrota monumental para os outros. Até comprara baralhos novos, atirando com desprezo o velho e já sebento para o cesto dos papéis.
Estando tudo combinado, Chico jogaria algumas partidas e ficaria de fora. Os seus três amigos encarregar-se-iam de entreter o dono da casa para o resto da noite. Durante meia hora assim procedeu, com grande contrariedade da Ermelinda, que ia e vinha, abanando-se languidamente. Não se vestira com tanto cuidado como quando fora a casa dele, mas que interessava se expunha na mesma a sua sedução de sereia concupiscente?
Chibo Manso soltava urros de contentamento quando Chico cedeu o lugar a outro. Não podia suportar aquelas risadas idiotas, os cantos dos lábios molhados de excitação. Era repugnante e compreendia-se por que Ermelinda preferia os cálidos beijos dos sargentos àquela boca imunda.
Os amigos jogavam, mas as atenções concentravam-se mais em Chico. Como é que levaria aquela bela mulher para fora de casa para cumprir a aposta? Chico não se descosia, sentado ao lado de Chibo Manso, a observar-lhe a técnica, que merecia sem favor a classificação de mestre.
De repente, ela quedou-se na porta, à entrada do corredor para a cozinha. Olhava, sem rebuço, provocativamente para Chico, arfando o peito, em altos e baixos de entontecer. Depois recolheu-se, fechando a porta.
Chico aguardou uns segundos e ergueu-se para dizer que ia à casa de banho fazer uma coisa que ninguém podia fazer em seu lugar. Era uma familiaridade brutal que não teria para com outrem, mas Chibo Manso, uivando hilariante, indicou-lhe o local, que era ao lado da cozinha. E voltou logo a embrenhar-se no jogo, esquecido de tudo o mais.
Frontaria, leviano, entrou pelo corredor e fechou a comunicação atrás de si. Não pensou mais na casa de banho e foi direito à cozinha. Trazia no bolso um anel de jade. Ermelinda debruçara-se sobre o fogão, nos preparativos para o jantar. Aproximou-se dela e soprou-lhe ao ouvido. Ela soltou um gritinho, mas sorriu, com um dengue delicioso, quando o reconheceu.
- Mauzão... Assustou-me!
- Não sou diabo nenhum, não?
- Não... mas assim de repente...
Ele extraiu do bolso o saquinho algodoado e mostrou-lhe o anel. Ela derramou uns olhos cobiçosos e avaliadores, ao examiná-lo.
- Que bonito...
- É para você... Para se recordar de mim. Se não gostar, eu posso comprar outro.
- Não... Gosto muito.
O anel desapareceu imediatamente no bolso da saia caseira, não fosse ele convencer-se de que ela não apreciava. Ficaram frente a frente, as ancas de sereia num meneio ondulante. Era de mais. Abraçou-a e vorazmente devorou-lhe os lábios. Ela ficou sufocada com o ardor, toda colada a ele, correspondendo com o mesmo ímpeto, decorrido o primeiro segundo de surpresa.
- Amo-te... quero você. Não consigo dormir só de pensar em você.
Eram as frases clássicas, seguidas doutras quejandas, enquanto lhe corria as carnes, terminando na dureza dos seios triunfantes. Já não tinha mais mão em si. Tinha de ganhar a aposta.
- Vamos para dentro... Para o quarto.
- Agora não... doido. Ele podia vir à tua procura.
- Está de mais entretido.
Puxou-a para o corredor. Ela resistia, aos tropeções, num rumor de saias, os corpos de encontro às paredes. Mas foi cedendo, pedindo silêncio, pedindo calma, encaminhando-se para o quarto. Do outro lado da porta do corredor ribombavam altas vozes, entrecortadas pelos urros de Chibo Manso.
O risco e a sensação de perigo acabaram por excitá-la também. Como devia odiar e desprezar o marido, para agora, as faces rubras, os olhos em fogo, deixar-se arrastar e seduzir.
Entraram no quarto, trancaram-se e ele encostou-a à porta. Estavam quase a rebentar e começou a amá-la em pé. A porta sacolejou. Ela gemeu, enrolou-lhe as pernas nos rins, mas teve ainda, no seu delírio, a suficiente presença de espírito para lhe apontar a cama. Foram assim mesmo, colados, e o leito rangeu com o peso dos corpos. Havia qualquer coisa de muito obsceno mas tremendamente excitante naquelas pernas ao léu, calçadas de botinas e meias pretas. Amaram-se com furor, com rapidez, sequiosos e perdidos na sua audácia. Cinco minutos, com um berro sufocado, tudo terminara. Levantaram-se num ápice, ambos húmidos nas faces e no resto do corpo pelo esforço. Então, ele respirou em cheio a exsudação dela, um odor acre e penetrante de sovaco. Sentia-o impregnado na pele. Saiu para a casa de banho, para se recompor e dissipar o cheiro comprometedor.
A casa de banho era um quartinho caótico, sujo, a tresandar a amoníaco. Penteou-se, abanou o rosto, para diminuir o afogueado da pele, e voltou para a sala.
- Isso demorou... - comentou, num largo riso, Chibo Manso.
- Desculpe... Foi um abuso. Mas tinha cá um destes apertos.
- Isso acontece... Eu compreendo. Quando há necessidade. O que gosto é que não façam cerimónias cá em casa.
Chico estoirou às gargalhadas. O odor que trazia na roupa e na pele não o podia denunciar. Constituía uma segunda natureza para Chibo Manso. E seguiu-se uma noite animadíssima. Chico foi exuberante, falou muito, contou anedotas brejeiras, fez rir toda a gente. O jantar estava óptimo. Ermelinda, sentada ao lado dele, prendia-lhe por baixo da mesa a perna e as mãos tocavam-se quando podiam. Ela, corada e muito perfumada, vestida a preceito, estava mesmo de enlouquecer.
Quando abandonaram a casa, os amigos crivaram-no de perguntas. Chico, com um gesto superior, disse:
- Já está no papo.
- É mentira! - gritou Silvério, com estranha veemência.
Os outros secundaram-no. Não acreditavam, não havia tempo para tal nem coragem para tanto. Chico replicou:
- Vocês o que querem é fugir à aposta. Não acreditam? Pois cheirem-me o corpo. Não é o sovaquinho dela? Querem a
confirmação? Pois ela vai a minha casa daqui a três dias, às três horas da tarde. Verão se minto.
Viram, escondidos numa reentrância da rua, a uns metros prudentes. Bem propuseram espreitá-los no quarto, mas Chico teve o bom senso de negar tal abuso. O amor, dizia, requeria só dois parceiros. Depois, discrição e isolamento. Tinham de bastar-se com olhar. Certamente que os dois, lá dentro, não iam apenas contemplar-se e limitar-se a apertos de mão.
Chico teve uma tarde memorável, sem medos nem precipitações. Gozou esplendidamente. O segundo encontro realizou-se em casa dela. Desta vez assustou-se com o carácter absorvente de Ermelinda. Não estava mentalizado para uma coisa permanente e tremeu com a proposta dela, brutal no seu cinismo, que consistia em abandonar o marido para passar a viver com ele, disposta, portanto, a tomar posse, como dona e senhora, das suas riquezas. Considerava-a uma boa fêmea, bem treinada e experiente, e nada mais; ligara-se a ela por um capricho, por causa duma aposta. Saciado o frémito, o que desejava era estar na rua, com os amigos, a saborear uma cerveja. Teve a perspicácia de adivinhar que ela seria uma ventosa a chupar-lhe tudo. O fito era instalar-se bem e livrar-se da vida modestíssima e monotoníssima junto dum marido inócuo. Não se mostrou entusiasmado, disse que ia pensar, para não a ferir. Por outro lado, não aguentava o cheiro violento e penetrante do sovaco. Era um odor que pesava no ambiente e parecia transportar-se num outro dia e despachou-a. Iria aturar aquela «fragrância» toda a vida? Não. Aquilo era só bom para o Chibo Manso.
Houve mais dois encontros, um na casa dele, o último na dela. Descobriu mais coisas. Não primava pelo asseio e pelo arranjo. Aquilo que apreciara fugazmente, nas primeiras vezes, confirmava-se agora mais patentemente. As roupas espalhadas ou penduradas em arames, pratos com molhos coagulados por lavar, o pó no chão e nas mobílias, a cama sebenta, cujos lençóis não eram trocados há muito. Chico, com todos os seus defeitos e a sua irresponsabilidade, era um homem meticuloso nos banhos, na roupa tanto interior como exterior. Preocupava-se com o brilho dos sapatos e exigia dos seus fatos que fossem bem passados a ferro. Uma nódoa na camisa, a falta dum botão, e era certo berrar com o mainato encarregado da tarefa. Tinha as unhas sempre limpas. Como podia admitir no seu convívio diário uma mulher porca, que consumia horas em atavios para ser vista, escondendo debaixo da roupa uma sujidade congénita? E queria ela transportar-se para a casa que fora da Títi Bita. Não, mil vezes não.
No último encontro, que já não tinha o prazer da novidade, ela voltou estridentemente à carga. Foi estúpida e teimosa. Queria ouvir um sim e mudar-se com corpo e bagagens para o conforto duma casa que lhe parecia cair do céu.
Chico nunca fora conflituoso, mas a insistência atrevida dela obrigou-o a saltar da cama, bracejando. Replicou com um redondo não. Questionaram violentamente, ela com o mais vernáculo dos palavrões. Acabou por sair, esgotados todos os recursos. Deixou-a rubra de cólera outra vez para o Chibo Manso, pois sempre «valia um pássaro na mão do que dois a voar».
Chico ganhou a aposta e livrou-se da «porca», como dizia. Os amigos deram à língua e a aventura espalhou-se. Não voltou mais a falar com o casal. Quando, depois do incidente, se encontrou com Chibo Manso, este desviou a cara. O pobre homem estava mais embaraçado do que ele e saudoso do grande parceiro da «sueca». Chico convenceu-se de que fizera o gesto por imposição da mulher, que, passos atrás, o media com uma carranca furibunda. Mas no dedo ostentava o anel de jade. E soube que ela regressara aos sargentos, a quem distribuía amores, sem que ninguém mais da «nossa gente» pudesse gozar dos seus ardentes favores.
Do que Chico não pôde aperceber-se, na altura, é que fizera um secreto inimigo na pessoa do Silvério. Não lhe perdoara ter vencido a «praça-forte» da Ermelinda, enquanto ele, com toda a sua gabarolice de conquistador, nunca o conseguira.
Veio então a aposta suprema de Chico Frontaria, que teve consequências imprevisíveis para a sua leviandade.
Uma noite, no botequim de Tomé Zacarias, à Rua do Campo, entre tacadas de bilhar, ouviu falar no Sr. Saturnino. A história era já antiga e motivo de chacota geral. Mas desta vez, animado com vários copos de cerveja, prestou uma aguda atenção.
O Sr. Saturnino tinha três filhas casadoiras que iam já passando da idade própria. O homem andava ansioso por arrumá-las, mas, por um desses azares da sorte, nenhum namorado pegava nelas. Não se podia afirmar que fossem inteiramente feias. A boca, de dentes enormes, porém, herdada do pai, estragava tudo. E depois o andar, também vindo do progenitor, prejudicava aquele andar da família, em diagonal, costas inclinadas para trás, os quadris para a frente. Desde pequeno, o Sr. Saturnino ficara com a alcunha de Acento Grave. E a família, por extensão, ficou conhecida pela «gente do Acento Grave». Dizia a troça da «cidade cristã» que a mãe, uma senhora magrinha e apagada, limitara-se a trazê-las no ventre, mais o irmão, sem ter em nada contribuído com o seu próprio sangue.
Quando calhava elas aparecerem com um rapaz, debruçava-se a bisbilhotice do burgo para avaliar qual seria a felizarda. Não havia desfecho nenhum. O rapaz cirandava uns tempos por ali, aguentava o embate uivante do mais cerrado patois e, de repente, sumia-se para outras bandas e outros interesses. Murmurava-se do desespero do Sr. Saturnino e dos murros com que castigava as paredes para se refazer da decepção. Quando a banda da guarnição tocava no coreto do Jardim de Vasco da Gama ou do Jardim de S. Francisco, era ver surgir aquela família, as três meninas à frente, vistosas e aperaltadas, ciciando umas com as outras, os pais e o irmão atrás. Havia sempre quem prevenisse então:
- Lá vêm os Acentos Graves.
Atribuía-se um grande defeito ao Sr. Saturnino que punha de atalaia os mancebos em perspectiva. Mal um deles acompanhava as filhas até à porta - elas nunca apareciam na rua isoladas -, o pai chegava-se pressuroso e convidava-o a entrar, sem se importar se era conhecido ou não. E disparava, logo à entrada, amabilíssimo, mostrando as suas gengivas castanhas e os dentes orlados de nicotina:
- Entre... entre. Não faça cerimónia. Não quer um cálice de vinho do Porto?
Tal convite funcionava negativamente. O interessado em potência ficava imediatamente de atalaia. Corria a fama da qualidade excelente do vinho. Mas do cálide bebido à rede fatal era um passo. O mancebo, prudente, agradecia e desaparecia e as meninas Felicidade, Pulcritude e Esperança continuavam tristemente solteiras.
Chico ruminou a história do vinho do Porto entre caramboladas seguidas, numa noite propícia em que batia todos os adversários. De súbito, estacou e, com uma gargalhada bombástica, disse:
Aposto que lhe vou tirar para sempre a mania do vinho do Porto.
- Como? - indagou a roda em volta.
- Aposto, já disse. Quem é que quer apostar comigo? Houve um rebuliço. Chico vinha de novo com uma das suas.
Apostaram. Não interessava ao endiabrado o quantitativo, que não era muito. O importante era o repto em si. O plano desenvolvia-se na sua mente e já se via outra vez exaltado na sua reputação de brejeiro, com palmadinhas de admiração nas costas.
No domingo seguinte, no adro da Igreja de Santo António, Chico, muito elegante, com o seu fato novo de linho, colarinhos duros que um laço vermelho apertavam, avançou para a Pulcritude Saturnino, a menina do meio. Fazendo uma reverência untuosa com o seu chapéu de palha, meteu logo conversa a propósito da venda de bilhetes duma quermesse para fins de caridade, a realizar-se no Jardim de S. Francisco. Ficou entre as três moças, com o à-vontade dum actor consumado no palco. Não as largou, falando torrencialmente em patois, onde elas se sentiam como peixe na água. Introduzia, de permeio, galanteios e amabilidades que lhe surgiam à cabeça, mas as suas atenções concentravam-se na Pulcritude.
Reparou que ela tinha um tique nos olhos que aumentava de intensidade quanto mais enervada ficava. E tinha um costume que o apavorava. Refrescava os dentes enormes com a língua, para mante-los molhados e brilhantes. De qualquer maneira, das três era fisicamente a melhor, «sem ser grande coisa».
Dizendo sempre que estava no seu caminho, calcorreou com elas pelo bairro, atravessando a Rua de S. Paulo e arrostando com a curiosidade toda que vinha às janelas. Parecia não ligar a ninguém, as curvaturas e mesuras para a Pulcritude, que não se continha, lisonjeada de tanta amaviosidade. A língua passava e repassava pelos dentes, como uma pequenina serpente lasciva, o tique dos olhos mais
acentuado.
Ao chegar à porta, o Sr. Saturnino, que os descobrira do alto da varanda, plantou-se com sorriso acolhedor. Nunca vira gengivas tão castanhas como as dele.
- Não quer um cálice de vinho do Porto?
Chico, com ar de quem se sente honrado, não hesitou. Entrou pelo vestíbulo, pendurou o chapéu no cabide, com o desplante e arrogância de rico. A sala onde se instalou tinha uma mobília pesada, mas nos armários envidraçados havia fulgores de prata. Um olhar bastou para abarcar que o Sr. Saturnino não estava de todo mal economicamente. De qualquer lado vinha o perfume de comida suculenta, que se misturava com o de alfazema da sala. Rodeado da família - faltava apenas o filho, agora em Xangai -, elevou o cálice, num brinde solene, para a mãe e para as três filhas:
- Às quatro rosas do crisol de Macau!
Não era profundo o elogio, mas para aquele conjunto era o supremo de finura e de bom-tom. As moças chiaram, regaladas.
Provou o vinho do Porto muito compenetrado e deu um pequeno estalido de bom entendedor.
- Isto... nem vinho de padre.
Repetiu descaradamente uma nova dose. Daquele Porto, sim, era o céu. Depois dos gabos, encostou-se no sofá, cruzou a perna, com a pose dum lorde.
O Sr. Saturnino ficou logo dominado. Seria possível que aquele rapaz, tão bem-educado, tivesse tão desgraçada fama? Ou eram as calúnias e a inveja por ser um homem rico? As três meninas soltavam, a cada dito, exclamações agudas. Pulcritude recolhia o melhor dos frutos da atenção e Chico não escondia em mostrar-lhe isso mesmo. Fingindo alguma resistência inicial, terminou por aceitar o almoço. Valeu-lhe essa sem-cerimónia o facto de a refeição consistir no cozido à portuguesa, à moda de Macau, com batata-doce e balechão. Esqueceu-se de que abusava da clássica hospitalidade, tão natural nos seus conterrâneos, e persistia na perigosa brincadeira, sem escrúpulos, só para ganhar a aposta.
Descaradamente, comeu e bebeu bem. Se o Sr. Saturnino fosse um nadinha mais perspicaz e menos aflito em impingir as filhas, guardaria uma suspeita de tão impetuosa intromissão no seu lar, dessa investida abrupta dum homem que apenas alguns dias atrás cruzava com ele, num cumprimento distraído.
Durante o repasto, Chico, mais uma vez, deu mostras de ser um exímio conversador. Tinha a graça espontânea e entretinha, qualidade que ninguém lhe podia negar. Prendia o auditório com as suas histórias, exageradas ou mentirosas. Evocou as proezas dos Frontarias façanhudos para impressionar, cujo efeito foi espectacular. O Sr. Saturnino embriagou-se com o pensamento de ver o seu nome ligado, por uma das filhas, aos Frontarias, capitães de lorchas.
- A praça já está conquistada. - Murmurou ao sair, vermelho do vinho e arrotando a cozido.
Pespegou-se à «gente saturnina», fingiu um namoro sério com Pulcritude, que aceitou, sem objecção e reserva alguma. Em público, o rapaz, volúvel e dissipador, patenteava uma paixão assolapada e galopante. Não se importava com os comentários e, cinicamente, obcecado com a «brincadeira», comprometia a donzela, que nunca conhecera um derriço.
Na quermesse do Jardim de S. Francisco, no estrado de dança, só bailou com Pulcritude, fazendo também o picadeiro burguês com ela ao lado, passeando diante de todo o bom-tom de Macau. Convenceu facilmente a moça e os pais da seriedade das suas intenções e, numa cumplicidade sem rebuço, eles favoreceram-lhe certas intimidades. Se Chico não foi ao extremo de deitar-se com ela - e ocasiões não faltaram -, foi simplesmente porque só estava interessado na «proeza», e não no desfruto do corpo daquela, que não lhe acordava entusiasmo nenhum. Sempre poderia afirmar amanhã que a deixara virgem; com os amigos, guardou segredo, gozando o espanto deles e as dúvidas se não estaria de facto apaixonado. Mas era fácil concluir-se que não, pois na noite calada continuava com a mesma boémia.
Não minguaram advertências ao Sr. Saturnino. Aquele Chico Frontaria não era boa rês. Tinha taras e vícios, matara a tia de desgostos. Os outros tios não podiam com ele, nem sequer lhe falavam. Entre os que mais se empenhavam em denegrir o rapaz estavam as irmãs Padillas, as piores más-línguas do burgo. O Sr. Saturnino afastava, com um gesto de enfado, aquelas intrigas, dizendo:
- Se não gosta, que interesse ele tem em pretender a minha filha? Ele é rico e sabe que não tenho fortuna.
Numa tarde, quando Chico gostosamente consumia a última gota do divino vinho do Porto, o Sr. Saturnino, tossicando, falou em casamento. Estava com uma mal disfarçada pressa. Com cómica solenidade, rebolando-se por dentro, respondeu que se sentia honrado por poder partilhar o futuro com esse «espelho imaculado de virtude» que era a filha. Na mente dançava-lhe a cara dos amigos, que iriam pasmar com a extensão da brincadeira.
Marcou-se o dia em que iria pedir oficialmente a mão de Pulcritude, porque sem esta cerimónia nenhum casamento era de bom-tom. O Sr. Saturnino quis tornar o acto mais solene e com retumbância na terra. Aproveitara o ensejo de retrucar aos maledicentes e às cartas anónimas. Convidou meio mundo, entre gente fina e modesta, num estardalhaço de embasbacar, para um lauto «chá-gordo». Todo o mundo falou da festa, mas ninguém se lembrou de que a data escolhida pelo próprio Chico era perto do Carnaval.
Timóteo Frontaria procurou o Sr. Saturnino. Justificou que era abusivo intrometer-se, mas aconselhou-o a recuar para bem de Pulcritude. Chico não prestava para genro de ninguém. Seria uma desgraça para a moça. O Sr. Saturnino fez orelhas moucas e foi ríspido. Para ele, aquela era a oportunidade da filha e, quem sabe, talvez o azar batesse as asas no que dizia respeito às outras filhas.
Os amigos abanavam-se, estupefactos. Que pretendia Chico Frontaria? Se não tomava a sério o casamento, não estava a caminhar longe de mais? Mas o descendente dos lorcheiros hirsutos queria praticar um inesquecível golpe de humorismo teatral.
No dia marcado, a residência do Sr. Saturnino regurgitava de convidados, sem que o noivo ainda tivesse comparecido; à hora a que o «chá-gordo» devia iniciar-se, nem sombra dele. Os ponteiros do relógio deslizavam inexoravelmente para diante e Pulcritude, que já perguntara por ele, enervava-se olhando para o pai. O Sr. Saturnino escondia a sua inquietação, excedendo-se em amabilidades, estremecendo, amiúde, os ombros. Explicava, com sorrisos, que o atraso era devido a qualquer facto inesperado. Suava e levava o lenço à testa e à boca.
Já se ouviam murmurações cada vez mais crescentes. Pairava no ambiente uma sensação de mal-estar. Pulcritude recolhera-se para o quarto, com a mãe, as irmãs e as amigas mais chegadas. O filho, que viera de propósito de Xangai, apresentava um rosto carrancudo. Meia hora depois, magotes de convidados espreitavam pelas janelas, farejando escândalo. Outros, não suportando a tensão, vinham para a rua. Formavam-se grupos, havia comentários indignados. Os amigos de Chico, os que estavam comprometidos com a aposta, ou censuravam-no ou procuravam passar despercebidos. Uma coisa era a aposta e outra a realidade. Ninguém podia imaginar que o desplante de Chico fosse até àquele extremo.
Passava outra meia hora quando no fundo da rua rebentou o estardalhaço dum gonzo chinês e pífaros, acompanhado de explosões de panchões. Chico apareceu numa cadeirinha aberta, forrada de azul e vermelho e ladeada de lacaios, jaqueta azul e cabaia comprida vermelha, as cores dos Frontarias. Era um quadro carnavalesco! Animou-se a casa, desapareceu, num ápice, o ambiente de tensão, estabeleceu-se um burburinho. Às janelas, os convidados eram aos molhinhos. Mais pessoas afluíam e espalhavam-se na rua.
Em frente da porta, entre palmas, a cadeirinha estacou. Chico pôs-se em pé, casaco azul e calças vermelhas. O chapéu de palha trazia uma berrante tarja vermelha que descia até às costas. Não era a figura dum noivo solene. Era uma caricatura, um folião envergando uma indumentária de entrudo.
Percorreu os olhos pelas janelas, contemplou o seu público pasmado e gozou o seu momento triunfal. Então divisou o Sr. Saturnino, que arrancava os olhos numa terrível dúvida. Fez uma mesura que julgou jocosíssima e disse, em ar de chacota:
- O seu vinho do Porto é delicioso... mas também desta vez não serviu.
Outra vénia, sentou-se e ordenou que a cadeirinha prosseguisse o caminho. Onde se esperava a hilaridade geral, contrapôs-se um silêncio de estupefacção e consternação. Foi um escândalo e uma afronta! Ainda apanhou aqui e acolá exclamações de gente encolerizada.
- Bandido! Desavergonhado!
O Sr. Saturnino dobrou as pernas, como se dilacerado por uma síncope, e teve de ser conduzido para dentro em braços. Pulcritude, em cima, desmaiou, no meio do choro das senhoras. Os convidados começaram a dispersar-se, com pressa de fugir daquela casa. As mesas, enfeitadas de flores e montes de iguarias, permaneceram intactas, com os criados atarantados, a perguntar o que tinha acontecido. O filho de Xangai vociferava ameaças, na vã tentativa de perseguir o atrevido, e, afirmava-se, teria assassinado Chico se não fosse
contido.
Chegado a casa, Chico aguardou pelas congratulações dos amigos. Nenhum surgiu. Atingira o seu fim, demonstrara ser o rei dos folgazões, ensinando o Sr. Saturnino a não oferecer mais o celebérrimo vinho do Porto. O silêncio, porém, da casa amachucou-o. Lentamente, começou a desenhar-se a realidade do seu acto irresponsável. Virou as costas ao retrato da tia, por não poder enfrentá-lo. Agora que se livrara da sua obsessão, já não se sentia feliz. Ainda não sabia bem definir-se, mas nessa noite mal jantou. Contra o seu costume, não teve coragem de comparecer no botequim.
Nos dias seguintes reflectiram-se as consequências do seu desmando. Onde julgava colher elogios encontrou apenas censura e reprovação gerais. Até àquele ponto não eram permissíveis brincadeiras. O Sr. Saturnino podia ser caricato, mas o seu vexame alcançara a simpatia da cidade. Portas que ainda recebiam o rapaz leviano, por ser um Frontaria e ter algum dinheiro, trancaram-se para sempre. Houve imensos cortes de relações. Às suas mãos paravam cartas insultuosas, todas assinadas. Muitos dos amigos que tinham alimentado a sua vanidade afastaram-se para se descartarem de qualquer responsabilidade sobre o assunto. Apenas ficaram aqueles que nada tinham a perder, portanto os piores.
O Tio Timóteo procurou-o em casa e saltava de fúria. Os seus berros estendiam-se ao longo da rua, com a vizinhança em peso à escuta e basbaques à porta, atraídos pelo escarcéu. Estranhamente, não se ouvia a voz de Chico.
- És a vergonha dos Frontarias... um traste. Ainda bem que a tua tia morreu, para não assistir a uma baixeza destas.
O filho do Sr. Saturnino não partiu para Xangai sem um ajuste de contas. Com uns antigos colegas de escola, surpreendeu-o pela calada da noite e encheu-o de pauladas, coadjuvado por outros. Deixou-o esparrinhado em sangue, a deitar pelo nariz e pela boca, com umas costelas arrombadas. Foi uma sova inteiramente merecida. Conduzido ao hospital, Chico ali permaneceu por muitos dias, só visitado pelos parasitas.
Ganhara a aposta. O Sr. Saturnino nunca mais ofereceu vinho do Porto a ninguém. Não quis um desforço nos tribunais, a sova bastava, para não aumentar mais o escândalo. Chico não se atreveu a queixar-se do agressor. Pulcritude, com a reputação desfeita, recolheu-se em casa e ninguém mais a viu em parte alguma. Só os madrugadores podiam descobrir o seu perfil embiocado num véu, à primeira missa matutina, no cantinho mais despercebido da igreja. Muito discretamente, com a família inteira, partiu para Xangai, donde nunca mais regressaria, não superando a vergonha. Decorridos anos, soube-se que se casara e era mãe duma grande prole, dum marido que não necessitara de beber vinho do Porto. Esta foi a supina proeza de Chico Frontaria.
Podia ser um inconsciente, mas possuía, no fundo, uma alma boa. As pauladas do Saturnino filho e as acusações do Tio Timóteo, espumando de raiva, patentearam-lhe a realidade nua e crua. Quisera ser apenas o mais atrevido e o mais original dos brincalhões. Em toda aquela história nunca tivera em consideração a honra de Pulcritude, que fora apenas um joguete para o êxito da aposta. Com a mais estranha das leviandades, nunca meditara na lama com que salpicara a rapariga. Por ser mais vulnerável, fora ela quem sofrera mais com as consequências. É que a maledicência também não a poupara, porque se sabia ou se dizia que ela estivera muitas vezes a sós com o malandro. Fosse como fosse, era uma mulher emporcalhada por suas mãos.
Gostaria de remediar o mal, mas era tarde. Perdera o crédito, não podia ser perdoado e ninguém se afoitava em acreditar na sua palavra.
No Entrudo, pela primeira vez, Chico Frontaria não participou nas folias, cancelando a sua intervenção. Desculpava-se com a doença, no fundo, a sova, mas era mais do que isso.
Subitamente, amadureceu. Estava nos trinta anos e ninguém admitia já que procedesse com impunidade, como se fosse um eterno garoto. Para rapaziadas, já bastava. A sociedade estava farta dele. Era um inútil. A popularidade decrescera verticalmente. Sentia-se resvalar em terreno movediço. Defendia-se com uma pose arrogante, de desafio. Mas, quando deixava um grupo, pressentia que nas suas costas o crucificavam.
A Títi Bita apareceu-lhe de noite, em pesadelos, o carão severo, lágrimas a correr pelas faces, armada da vassoura-de-coco. Acusava-o de faltar a tudo que lhe prometera no leito de morte. Transido de agoirentos presságios, ajoelhou-se várias vezes diante do retrato da falecida, a rogar-lhe perdão. Cheio de arrependimento, dirigiu-se à campa dos Frontarias, muito abandonada, e despendeu generosamente para recompô-la, num apelo secreto para que os seus maiores o protegessem. Humildemente, visitou o P.e Serafim para se penitenciar.
- Rua. És um réprobo. Não te ouço a confissão. Nem a penitência mais pesada que te desse remediaria o mal que fizeste. Por tua causa tenho os meus rins e fígado desfeitos. Não estou nada sereno, Deus me perdoe... Rua... mafarrico!
Escorraçado, atropelando-se nas pedras da calçada, saiu para a chuva. Ia desalentado, as faces a arder. As palavras do padre eram como um ferrete em brasa. Estaria, de facto, excomungado?
Ao orçar a esquina, a corja dos amigos nefastos esperava-o. Arrastaram-no para a pândega, a que não resistiu o seu espírito fraco. Silvério, o pior deles, troçava dos seus pesadelos e da sua súbita devoção. Outros secundavam-no. No meio deles sentiu-se consolado, estava outra vez no seu elemento próprio. Entrou então numa fase de estroinice desenfreada, para apagar o que lhe pesava na consciência. E o burgo reprovou-o ainda mais por não se mostrar em nada arrependido.
Inevitavelmente, tal esbanjamento teria as suas repercussões. Principiou a faltar-lhe dinheiro. Comera os depósitos da tia, as moedas de ouro e prata dos saquinhos, foram-se as primeiras jóias e as acções da Bolsa. Depois chegou a vez da casinha do Monte e logo a seguir o terreno no sopé da Guia, vendidos abaixo do valor real, para desenvencilhar-se de apertos. Lutou para salvar a casa da tia, mas acabou por hipotecá-la. E a pouco e pouco começou a desfazer-se do recheio da casa, que a tia com tanto amor preparara para ele e para o seu futuro lar. Apercebeu-se de que caminhava rapidamente para a ruína e que, portanto, devia parar. Mas confessar isso aos amigos, que não o largavam e gozavam das suas liberalidades, pareceu-lhe pungentemente vexatório.
Custava-lhe admitir que tinha de pôr um ponto final à ostentação, às mulheres e às estroinices. A realidade prevenia-o de que tinha de empregar-se. Já não os recebia em casa para que não reparassem quão dilapidada estava em mobílias, pratas e outras comodidades. Um dia, em tom casual, escondendo o embaraço na máscara risonhã, aventou que tinha de buscar algo que fazer. A resposta dos outros, pronta e implacável, assustou-o:
- O quê, trabalhar, com o dinheiro que tens? Que emprego esperas, se não aprendeste coisa nenhuma?
Veio-lhe o acanhamento de abrir-se e de ser franco. Temia que os amigos o abandonassem. Começara a depreender que, se se juntavam com ele, era porque o consideravam um poço sem fundo. Deste círculo vicioso não escapava. Foram-se as porcelanas «azul e branco», o resto das jóias, o mobiliário de pau-preto da sala. Endividou-se, mas, como o julgavam com posses, ainda, a princípio, tinha crédito. Vendeu a casa da Títi Bita ao desbarato para saldar a hipoteca e outras dívidas inadiáveis.
Dezoito meses depois da proeza com a Pulcritude, no momento em que ela e a família partiam para Xangai, estava de tanga, ignominiosamente falido. Então não foi possível esconder mais que estava em péssima situação. Supersticioso, acreditou que pendia sobre ele o estigma do castigo. Praticara nefandas enormidades, era um réprobo que nem Deus queria.
Deixou de ser exigente. Antigamente limpo, sempre chique pelo último figurino, as camisas resplandecendo de alvura, os sapatos bem engraxados, agora apresentava-se com ar desleixado, os fatos engelhados e poídos, numa decadência visível. Devendo ao mainato, perdera muita da sua roupa. Outras, das melhores e das mais finas, tinham ido parar aos algibebes, em embrulhos que levava debaixo do braço, mal a noite começava. Perdida a casa, arrendou um andar na berma da «cidade chinesa», lá para os lados da Rua das Alabardas, onde acoitou o peso infeliz do seu corpo. Na última noite, com o retrato da Títi Bita encostado ao peito, a despedir-se da casa vazia, onde passara tantas horas felizes e despreocupadas, ao ecoar dos passos, chorou amargamente o seu desvario.
Principiou a sofrer as agruras da pobreza. Já não ia ao botequim, esquivando-se dos convites. Processou-se a debandada dos amigos, justamente daqueles, entre os quais Silvério, que mais tinham tirado proveito da sua boémia e das prodigalidades ruidosas e generosas. Saboreou o fel amargo da ingratidão.
Correu a ronda dos empregos humildes, pois as suas habilitações não davam para mais. Viu-se escorraçado. Era uma madraço, um inútil, diziam-lhe na cara. Muitos dos que tinham invejado a sua insolente opulência descobriram o inefável ensejo de achincalhá-lo. Lembravam-lhe o parentesco que os ligava aos Saturninos para lhe desfecharem um «não». Fazia mentalmente a lista das pessoas a quem pedir emprestado dinheiro para satisfazer as suas básicas necessidades do dia-a-dia. Inventava histórias que não convenciam ninguém e cada moeda ou nota arrancada era uma porta de socorro que se fechava. Os amigos de antanho desviavam-se do caminho para o evitar. Mas ele insistia, perseguindo-os. Aproximava-se com sorrisos para o tímido pedido. A má vontade com que o acolhiam flagelava-o como uma chibata nas faces.
- Bom, esta é a última vez. Não posso andar a sustentar a preguiça de você. Se quiser comer... que trabalhe.
Esta a resposta mais habitual. Havia outras muito mais grosseiras e dolorosas, e a pior delas era um redondo «não», acompanhado com um trejeito de desprezo. Devendo rendas, viu-se encurralado pelo proprietário, que o não largava, noite e dia, aos berros e aos insultos. Jogava às escondidas com ele, suando na sua miséria, mas era sempre surpreendido quando menos esperava. Depois, já não era apenas o senhorio. Eram as suas duas mulheres e a filharada, com um rosário de palavras, em destemperada barulheira, não aceitando as suas titubeantes desculpas. Por fim, o proprietário ameaçou. Não recorria aos tribunais porque levava muito tempo. Numa noite, cercaram o inquilino remisso alguns jovens chineses, de feições facínoras, que, socando-o, lhe deram quarenta e oito horas para liquidar a dívida ou ia para a rua. Caso contrário, esfaqueá-lo-iam numa noite qualquer.
Solicitou, naquela extrema contingência, a intercessão do P.e Serafim, dobrando-se de joelhos, numa abjecção vergonhosa. O homem da religião, que se pungira da sua irritação passada e menos duro do que da primeira vez, invectivou-o sem peias, mas não o repeliu. Falou a um catecúmeno chinês, que, por sua vez, falou a um parente, para arrendar um cubículo na «cidade chinesa», num dos becos perto da Rua das Janelas Verdes. Foi mais longe o P.e Serafim. Conseguiu-lhe o lugar de porteiro duma instituição de caridade. Só que ele tinha de lhe prometer que se regenerava. Chico jurou, compungido e desesperado. Segurou sofregamente as moedas de prata do religioso, que lhe iam matar a fome por dois dias.
Durante algum tempo fez-se uma pausa na sua infelicidade. Ao menos tinha onde dormir e algum dinheiro para as necessidades mais primárias. Na miséria em que estava, nem sofria que vivesse entre chineses, num casarão com muitas famílias e uma cloaca imunda para os despejos. Outrora homem de boca fina, exigindo opíparas iguarias, comia agora num sórdido fan-tim, frequentado por pescadores, embarcadiços e estivadores. Nunca se erguia da mesa satisfeito, pois o dinheiro não dava para mais. Falando muito bem o cantonense, vivia muito à vontade entre aquela clientela, pois ninguém lhe conhecia o passado. Sendo um gabarola, dizendo que conhecia muita gente bem situada, muitos dos chineses recorriam a ele para petições.
Para angariar mais algum dinheiro praticou certos expedientes. Como não tinha jeito para manigâncias, foi apanhado numa queixa e conduzido à esquadra policial. Felizmente, não era coisa grave. Apelou pelo P.e Serafim, que veio, severo, ouvir-lhe uma história confusa. Tal apelo não evitou que dormisse pela segunda vez na cela da esquadra. Nunca soube que quem lhe valera fora o tio, que quis manter-se no anonimato.
- Não faço por ele, mas pela memória da minha irmã e dos antepassados. Que o sem-vergonha nunca saiba. Mas é pela última vez, isto garanto-lhe a Vossa Reverência.
Não se atreveu mais a repetir a façanha, porque então perdia para sempre o emprego e a protecção do P.e Serafim. Mas não era homem para evitar outros sarilhos.
Chico era um femeeiro. Não conhecia a palavra amor, nunca se prendera a sério e devotadamente por alguém do sexo oposto. Nunca lhe tinham faltado mulheres desde os quinze anos, mas sempre encarara estas como meio para satisfazer os seus apetites. Nos tempos de opulência experimentara a «porcelana fina e escolhida». Há muito, porém, que a Rua da Felicidade e as suas transversais mais refinadas se achavam interditas para ele. Agora, só nas espeluncas do Beco da Roda ia encontrar guarida para a sua sensualidade. Mas era um privilégio só espaçado. As pei-pa-chais que outrora deliciavam os seus ouvidos com canções, ao som do alaúde e do «piano de cordas», passavam por ele sem mostras de reconhecimento ou desviavam as suas carinhas pintadas para outro lado. Uma delas, a quem oferecera as pulseiras que ostentava, tinha o desplante de deslizar direita no alto da sua cadeirinha, o beiço em altivo desdém. Para ela e para as outras, o Frontaria de outrora, liberal e folgazão, era uma página esquecida.
Paredes meias, noutro cubículo mais acanhado, morava uma mulher chinesa dos seus trinta e cinco anos, mais ou menos forte e saudável, que ganhava a vida como vendilhã de achares, percorrendo a cidade desde manhã e regressando ao cair da noite. Morena e crestada do sol, tinha dentes de ouro, era rude, uma aldeã avantajada que falava um cantonense com forte sotaque da aldeia donde era oriunda. Andava sempre descalça, com os pés largos e calejados, e só condescendia em usar tamancos nas ocasiões especiais. Sem ser bonita, possuía um corpo desempenado. Rosto achatado, malares salientes, nariz pequenino, de narinas infladas, olhos puxadíssimos, como dois traços de pincel. Muito mais alta que ele, uma raridade,
de mulher do Sul, não seria certamente mulher para Chico Frontaria perder tempo a contemplá-la nos tempos de grandeza. Mas agora, que tudo lhe minguava, não tinha o poder de escolha.
A A-Tai - assim se chamava a mulherona - não exibia nenhuma feminilidade, tão característica das mulheres da sua raça. Conhecera, desde o berço, muitos trabalhos e maus tratos. Fizera-se por si, era agora independente, autoritária e mandona. Modos grosseiros, desbocava palavrões com frequência, levava sempre de vencida o adversário. Era temida no casarão, no beco e mesmo no bairro.
A mulherona dizia-se viúva e não perdera os seus ardores, antes tinha-os exacerbados. Os lábios grossos e os seios robustos, que não escondia debaixo da cabaia preta ou cinzenta de trabalho, denunciavam uma natureza fogosa. Chico viu nela uma solução, sentia-se muito só e fez-se amável e olhinhos doces. Acabou por entusiasmar-se de verdade e entusiasmá-la a ela. Amigaram-se por necessidade.
Logo se verificou o resultado da cabeçada. Ela era um animal vibrante e suarento na cama, mas nenhuma meiga companheira. Dois dias depois, tomava posse do cubículo mais largo e decente do rapaz, instalava-se ali com todo o desplante, arrendando o cubículo que lhe pertencia a uma outra companheira de trabalho. A situação foi aceita pelo próprio proprietário, um homem pacífico por natureza, incapaz de se defrontar com a língua e os modos da A-Tai.
Chico, que fora recebido no casarão com relutância, viu-se então melhor tolerado, mas perdeu totalmente a independência, naquele mundo onde estava deslocado. Dominadora, a mulherona apossou-se dos parcos haveres e do salário dele. Não reagiu a tempo contra a situação, para evitar escarcéu, e submeteu-se. Ela disciplinou-o como ninguém o havia disciplinado, acabando por temê-la.
Ela dava-lhe umas moedas para os cigarros e para o almoço diário, cozinhava-lhe a refeição da noite e regia outras despesas do casal. Chico esperava dela melhor tratamento, mas A-Tai não tinha propensão para a ternura. Sabendo, com o decorrer do tempo, que ganhava mais do que ele, nos errores pela cidade, fazendo biscates e arranjando criadas, mesmo para a «cidade cristã», e que Chico, com a sua fome insaciável, comia também do dinheiro dela, perdeu o pouco respeito que ainda tinha por ele ao princípio. Tornou-se uma tirana, mas, não obstante a sua dureza, queria o homem ao pé de si, para lhe satisfazer a natureza fogosa. Era ciumenta e não admitia que as mulheres e as raparigas do casarão e do beco tomassem qualquer familiaridade com ele. Quando se deixava apossar pela fúria, era de meter medo. E Chico, enfraquecido pela má alimentação e pela miséria, desmoralizado pelo ambiente e pela crença de que tudo se voltara contra ele, tremia diante dela. Quando recebeu a primeira bofetada, não replicou com outra, e desde então, quando lhe apetecia, A-Tai batia-lhe. Passou a ser a zombaria do casarão e do beco.
Era uma existência de pesadelo, num cubículo que se tornou rapidamente infecto e sujo, onde havia um eterno cheiro de esterco. Os percevejos mordiam e as ratazanas corriam, em louco à-vontade, num chiado sem fim. No Verão, nuvens de mosquitos atacavam sem piedade, penetrando por entre os buracos da casa, acastanhada pelo tempo e pelo pó, no meio dum calor sufocante. No Inverno, um frio de gelar, o vento a soprar através das frinchas e gretas dum edifício a desfazer-se. E sempre a humidade a escorrer pelas paredes, pois o sol, entrando baçamente pelo beco, só permitia um ar da sua graça. Ele era o único inquilino não chinês. Sabendo que a amásia o maltratava, sofria vexames, sobretudo da criançada, que, apesar dos verdíssimos anos, pode ser a mais cruel das idades.
Vezes sem conta, durante as noites de insónia, apertado entre a parede e o corpo volumoso da amante, a resfolegar um sono pesado, entontecido pelos odores de dois corpos e do esterco do chão, com a chiada das ratazanas a acompanhar, recordava-se do passado, da vida feliz com a tia, a cama de frescos lençóis, o lavado perfume de benjoim e incenso, a boa mesa de ricos pitéus. Oh, como lhe faltava um desses banhos em que a pele se cora com a fervura da água e a gente se sente completamente renovada!
Vinham-lhe à memória todas as moças com quem a tia sugerira que casasse e também aquelas a quem fizera mal com as suas brincadeiras, os seus dichotes e a sua boémia irresponsável. Até a Pulcritude lhe parecia bonita, ao deparar com o rosto grosseiro da A-Tai, a boca entreaberta, onde luziam os dentes de ouro.
Lágrimas afloravam-lhe aos olhos e chorava em silêncio a abjecta condição em que a sua má cabeça o lançara. Fizera mal e julgara-se impune. Desafiara a sorte e estava agora a ser duramente castigado. Nem sequer orava. Mentira tanto a Deus, quebrara todas as juras e promessas, que já não tinha cabimento a salvação. O P.e Serafim bem o prevenira. Era um réprobo, um mafarrico, condenado para sempre ao inferno.
Amiúde, sonhava alto mundos bonitos, onde flutuava feliz, ou então pesadelos de arrepiar. E sempre a tia com a vassoura-de-coco. Pronunciava palavras incoerentes, gemia. Acordava estremunhado, com um violento tabefe da A-Tai. Vinha-lhe a realidade, o cheiro azedo da amante e da casa. A «fragrância» da Ermelinda parecia-lhe, então, um paraíso em comparação. Sujo, barba de dias, fato engelhado, unhas negras e sapatos cambados, isto era o quotidiano de Chico Frontaria.
P.e Serafim, que conhecia a amigação, rugia:
- Chico, és o maior sem-vergonha! Mais uma vez faltaste ao prometido. Mentiste-me e mentes a toda a gente. Andas com uma pagã, em pecado. Se não acabas com isso... ponho-te na rua. Não quero que te refociles numa pocilga.
Chico dizia que sim, mas não cumpria. Sabia que o padre não tomaria tão drástica decisão. Por outro lado, carecia-lhe ânimo de sair da «pocilga». A amásia era uma bruta, mas garantia-lhe o comer. Acobardava-o voltar a correr Ceca e Meca, a pedinchar empregos ou cobres, com todo o cortejo de humilhações. Era preferível viver naquela sordidez do que enfrentar outras misérias. E não sabia o que A-Tai seria capaz de praticar, tentasse ele fugir-lhe. Embora não demonstrasse a mínima ternura e respeito, considerava-o, a ele, como sua pertença exclusiva. Nas suas explosões de cólera, bem o afirmava enquanto punha as mãos a trabalhar.
Sempre que podia, com as moedas que A-Tai lhe esportulava, rompia com a monotonia da sua vida miserável, indo a uma loja de vinhos chineses. Sentado num dos bancos de bambu, demorava-se um pedaço a bebericar uns copitos do mais barato sam-cheng de grande percentagem alcoólica. Outras vezes lograva quem lhe pagasse. Tornou-se um hábito, mesmo quando não ingeria qualquer coisa. Saía do emprego e vinha directamente para o sítio, evitando a «cidade cristã» para não dar espectáculo da sua indigência.
Na loja tinha ouvintes. Conversador nato e basófias, gostavam de escutá-lo. Não sabia rabiscar um carácter chinês, mas, quanto à linguagem falada, estava extremamente à vontade. Embora convencidos de que a maioria das suas narrativas não passavam de mentiras - como um desgraçado daqueles podia ufanar-se de ter sido um dia rico? -, puxavam-lhe pelo paleio, porque isso os divertia. Reassumia o seu papel de palhaço, aprazendo-se em recordar as suas mais hilariantes aventuras. E os ouvintes riam-se muito quando a amásia aparecia, ameaçadora com o varapau, para enxotá-lo para casa, com o fim de lhe lavar a roupa ou fechá-lo pura e simplesmente.
Um dia em que bebia sossegadamente a um canto, fazendo caretas, com a fermentação do vinho de arroz a raspar-lhe o estômago, deparou com o dono da loja, encostado ao balcão, olhando melancolicamente para a rua. Era um homem possante, cinquenta anos feitos, a trança esticadinha e sempre impecável, um bigode ralo e pendurado de que tinha orgulho. Havia uma temporada já que lhe notava o ar tristonho, ao contrário do que lhe era habitual. A amarelidão da pele, mais acentuada que sempre, pressagiava doença.
Chico, que não permanecia calado por muito tempo, pois não era do seu feitio, começou a puxar a conversa. O dono da loja recebeu mal as suas palavras, com interjeições de azedume e má cara. Mostrou-se impaciente e outro qualquer desistiria. Mas Chico estava nos seus dias felizes. A-Tai tinha passado a Porta do Cerco, para uma visita à aldeia natal, na «terra-china», e por dois dias, pelo menos, não teria de suportar ralhos e brutalidades. Por isso, estava na sua melhor disposição e queria comunicar a alegria aos outros. Se tivesse mais algum dinheiro, arriscar-se-ia a um salto ao Beco da Rosa. Mas os cobres não permitiam tais extravagâncias e contentava-se com o horrendo vinho de arroz.
Como sempre, acabou por vencer a casmurrice do dono da loja. Este começou a queixar-se de indisposições, má digestão e palpitações, que ameaçavam a solidez da sua saúde. Depois, abrindo a válvula do que pesava no coração, disse baixinho, num desabafo de familiaridade, que a sua virilidade apagara-se. Tinha duas mulheres, mas o certo é que nos últimos tempos não conseguia cumprir os deveres de esposo com qualquer uma delas. Em casa havia choros, lamentações e acusações de que se cansava lá fora, voltando para casa esgotado, com a frieza de um eunuco. Isto não era verdade! Não tinha «aconchegos». Não podia admitir tais palavras, estando inocente. Mas o certo é que mostrava forças dum homem de setenta anos, quando pouco ultrapassara os cinquenta.
Chico apurou os ouvidos com interesse. Conhecia as respeitáveis esposas, ambas serôdias e gastas. A Primeira era muito frágil, cor de cera, mal se equilibrando nos seus pezitos de «cabra». A concubina tinha os pés normais, mas não mostrava melhor desenvoltura que a Primeira. Era dum escalão social inferior a esta e falava muito alto. Ambas ostentavam um acervo de dentes de ouro e muitas jóias, mas não tinham cumprido o que para uma mulher chinesa era essencial. Dar ao marido um filho varão. Pelo contrário, só havia filhas naquela casa e isto era o grande desgosto do Lam Sang, o Sr. Lam. No entanto, este não as maltratava nem desistia do seu intento de conseguir o almejado varão. Como agora, assim inútil, havia de alcançar o seu desiderato?
Chico escutou as lamúrias do homem infeliz, cocegando a barba de dois dias. De repente, aprumou-se, com uma súbita ideia, inspirada por um vulto de garota que se detivera, num ápice, à porta da loja. E disse, com a sua proverbial leviandade:
- Isto só tem uma cura... Uma mulher novinha.
- O quê? Mas já tenho duas.
- Bem sei... Mas as suas excelentíssimas esposas, com todo o respeito, já não são novas. Estão esgotadas... já não conseguem passar o fluido para despertar a virilidade. O senhor não se zangue nem se ofenda com a minha franqueza. O que eu digo é que precisa duma mocita entre os quinze e os dezoito anos, virgem e ainda pouco penugenta. Pele fina e brancura de porcelana. O senhor verá. Deita-se com ela e não tardará em ficar escorreito e aprumado, todo triunfante. E todas essas palpitações, o mal-estar, a indigestão, desaparecerão num instante.
Os olhos do dono da loja arregalaram-se muito despertos. Um certo rubor coloriu a amarelidão das faces. Era mais uma «brincadeira» de Chico Frontaria, divertindo-se com o diagnóstico subitamente arquitectado.
- Você está certo de que é essa a solução?
- Tão certo como eu estar aqui. E fala um homem experiente. Consulte um adivinho se não acredita em mim. Foi justamente o que aconteceu com um amigo meu.
Teceu ali mesmo uma história mirabolante, totalmente ao sabor da sua imaginação, que o outro absorveu com um interesse redobrado. A narrativa era semelhante ao seu drama. Mas o herói da história era um homem de sessenta anos, já dobrado pelo reumatismo. Uma rapariga de quinze anos fê-lo ressuscitar para a vida.
- E teve filhos?
- Três e todos varões. Seguidos, com dez meses de intervalo apenas.
- Formidável!
- Hoje vive com setenta anos e dizem que ainda pode... duas vezes por semana.
- Incrível!
- Olhe, Lam Sang, a aguadilha virgem que elas possuem produz milagres.
Tinha conquistado o honrado e crédulo chinês, que via no conselho do seu cliente a solução dos seus problemas.
- As minhas mulheres é que farão uma chinfrineira.
- Eu não disse que o senhor se casasse com uma terceira. Adquira forças com ela e depois as suas esposas darão rapazes.
Lam Sang encheu o copo de Chico e recusou aceitar a paga. Sentado a seu lado, pediu pormenores e Chico, generoso, alargou-se num palreio desenfreado, só interrompido quando chegaram outros clientes.
No dia seguinte, Lam Sang aguardava-o impaciente. Não lhe deu tempo para respirar, chamou-o de lado e comunicou-lhe que fora ao adivinho e este lera-lhe a palma das mãos e as rugas do rosto. A resposta fora igualzinha à de Chico. Que segredo possuía o amigo para diagnosticar tal qual o adivinho? Estava reconhecido e oferecia-lhe de borla uns copitos do melhor sam-cheng da loja, e não a mistela que lhe vendia habitualmente. Chico nadou nas suas sete quintas por espalhar a felicidade.
Nisto, o chinês disparou:
- Você encontrou a chave para resolver as minhas aflições. Incumbo-o agora de arranjar uma virgem para mim. Saberei ser generoso.
Ficou aterrado e perdeu o gosto pelo vinho de reserva escolhido. Onde desencantar o rebento precioso? Devia esquivar-se, com desculpas, mas a atracção duma compensação monetária manietou-o. Era uma maneira de escapar às esmolas da A-Tai, esportuladas com maus modos. Sorriu para si mesmo. O chinês interpretou que acedia e estendeu-lhe uma mancheia de moedas de prata para espevitá-lo. Há muito que não contemplava tanta riqueza, quase chorou. Imediatamente, dirigiu-se ao barbeiro ambulante da esquina, para cortar o cabelo e fazer a barba, e depois para o tasco frequentado por marinheiros das canhoneiras surtas ao largo da Barra, onde devorou uma bifalhada suculenta, a que mandou aduzir dois ovos estrelados. Escondeu o resto das moedas por baixo do leito de madeira dura, num buraco da parede em que havia um tijolo solto. A amante, quando regressou, não estranhou o corte de cabelo, pois o fazia de dois em dois meses, poupando os cobres.
Era preciso, no entanto, levar a efeito a incumbência. Ali é que estava o busílis, o nó nevrálgico da sua felicidade futura. Se conseguisse o objectivo, tinha a vida garantida. Imaginava-se já tratado como um mandarim, pela gratidão eterna do chinês, em ambiente limpo e perfumado, roupa lavada, boa cama e boa mesa, com criados a servi-lo. E também, certamente, um corpo coleante de mulher para os seus devaneios. Isto, é claro, se a sua receita resultasse.
Durante uma noite inteira, entre a parede e o corpo emporcalhado da A-Tai, trazendo o odor da terra da sua aldeia, magicou os planos, cada um mais frágil que o outro. Não sendo nenhum demiurgo, onde fabricar a mocita? Inquietou-se. Metera-se numa camisa-de-onze-varas e não havia modo de encontrar o «furo». Arrepelava-se já contra a sua boca imprudente, que lhe criava situações embaraçosas, donde depois não sabia destrinçar-se. Gostaria de rebolar-se na tarimba, mas duas sacudidelas violentas da amásia imobilizaram-no. Só no dia seguinte, ao caminhar para o emprego, com os ossos moídos, lhe surgiu a ideia luminosa. Esfregou as mãos, sorrindo interiormente. À porta da instituição de caridade ruminou a estratégia, acabando por concebê-la inteirinha. Parecia regressado ao tempo das suas fabulosas apostas ou quando organizava os «assaltos» carnavalescos.
Aos sábados ou aos domingos costumava ir pescar. Era um passatempo a que A-Tai não se opunha, pois, em dias de sorte, reforçava as refeições, simples e monótonas, com peixe fresco. Já não havia dinheiro para alugar um tancá ou uma sampana. Nem procurava os rochedos do Bom Parto e da falésia de Santa Sandia. Eram lugares em que encontrava certa gente conhecida. Ou mesmo os morros da Boca do Inferno e os pedregulhos mais suaves da Praia de Cacilhas. Na sua humildade actual preferia os cantinhos entre os penedos da Fortaleza de S. Tiago da Barra ou, então, na sossegada e frondosa ilha Verde, quando ia tentar os peixes de água doce. Utilizava uma velha cana de anzóis provectos e camarões mais baratos. Mas era bem sucedido com aqueles apetrechos, que sabiam atrair os peixes.
Havia uma praiazita que era o seu lugar favorito, não só porque ali reinava uma aragem de sonho e se lavava, compensando-se da pocilga em que vivia. E havia sempre peixe abundante. Na curva do carreiro, mais ao norte, erguia-se um casebre; ali vivia um homem com numerosíssima prole. A mulher, ressequida de partos sucessivos e de muitas privações, ralhava sempre, mal-humorada e doente. Chico, com a isca à espera, numa reentrância da rocha, podia-lhe ouvir a voz rouca, invectivando o marido e a criançada suja, que se debatia na poeira e na lama, na maior das promiscuidades.
A princípio desconfiado, o Pão Sok, o Tio Sok, terminou por se familiarizar com o pescador que vinha nos fins-de-semana e ficava quieto entre dois pedregulhos e de vez em quando saltava para a água em dias de férvida canícula. Quando não trabalhava ou não ia à cidade, aproximava-se de Chico para dois dedos de conversa. Ali permaneciam, o chinês acocorado, o macaense entronizado na rocha, a trocar impressões sobre a pescaria. Em dias de muita felicidade era certo Chico deixar-lhe parte da colheita generosa do rio.
Em que se ocupava este escanzelado pai de família, Chico não sabia. Era um homem de sete ofícios, batendo a cidade para angariar o arroz com que sustentar a sua gente, que parecia sempre esfomeada. Nenhum se aproximava. Os mais novitos espreitavam, entre os arbustos, à espera das sapecas que de vez em quando distribuía da sua algibeira de paupérrimo, apiedado e sentido-se irmão deles na desgraça.
Entre essa prole numerosíssima existia a filha mais velha, esbelta, de feições correctas e alegre como um passarinho. Destacava-se dos irmãos pela finura das linhas, num corpo que, sem ser desenvolvido, retinha uma graça voluptuosa. O olho apreciador de Chico contemplava-a como um cão para as uvas, sem poder tocá-las. Andaria pelos dezassete anos, anunciando uma futura beleza, se entretanto a miséria e as privações não a ressequissem como a uma flor murcha. Ainda possuía a juventude para resistir às agruras da negra vida e a indigência passava por ela poupando-a.
Foi para essa pobre criança que Chico incidiu o seu plano. Num momento, a transacção repugnante que preparava pesou-lhe na consciência. Mas dominou o baque do coração, com a ideia de que ia satisfazer a crapulice do abastado negociante de vinhos. Aliás, não fazia mais que uma obra de misericórdia. Livrava a rapariga da chafurdice, dava-lhe conforto, um futuro que ela mal sonhava na promiscuidade em que vivia. E o amor? Mas quem falava de amor, se havia dinheiro, vestidos roçagantes, boa cama, serventes para acatar os mínimos caprichos? Nem sequer lhe passou pela cabeça estouvada que à rapariga pudesse enojar-lhe semelhante ligação. Ainda pensou na irmã segunda, também nada feia, mas grosseira, sem a categoria prometedora de porcelana fina.
Mais do que tudo, era o prémio chorudo do negociante que o impulsionava. Na dependência total das mãos avaras da A-Tai, Chico sonhava com o dinheiro que ia receber. Todos os outros sentimentos se esbatiam perante essa brutal realidade.
Como primeiro passo procurou sondar o pai. Tinha pressa em despachar o assunto, pois estava sendo perseguido pelos entusiasmos do negociante de vinhos. Felizmente que no dia seguinte era sábado. Ao dar-lhe as sapecas para a isca, A-Tai resmungou de má vontade. Odiou-a tanto, naquele momento, que a mão tremia ao apertar as moedas. Antes de ir à ilha Verde foi à loja e pediu uma garrafa ao patrão.
- É para o negócio... - disse, piscando o olho.
Com a garrafa debaixo do braço, sentiu-se mais afoito. Contava com a sorte de encontrar o Pão Sok e, efectivamente, ele ali estava, diante do casebre, a consertar cadeiras no meio da lixeira. Acenou por ele, mostrou-lhe a garrafa e ambos se dirigiram para as rochas. Chico vasculhou o vulto da rapariga e foi achá-lo, a conversar com um jovem, junto a uma enorme árvore de pagode. Aquele rapaz costumava ali aparecer com frequência inquietante.
Enquanto preparava a isca, iniciou uma conversa preliminar, a propósito do tempo e da negra vida. Não se fez esperar que o companheiro despejasse lamentações contra a sina malfadada que o vergava à mais abjecta condição. Os filhos tinham fome, os proventos não chegavam para alimentar tantas bocas, a mulher doente, precisando de tisanas medicinais. Chico, que encaminhara a conversa, viu aproximar-se o momento de lançar a farpa fatídica.
A isca foi mordida e Chico, aos berros, trouxe um peixão que saltava no esforço vão de escapar. Aquele êxito vaticinou que estava num dia propício. Nadava, portanto, a favor dos bons ventos. Antes de colocar uma nova isca no anzol exibiu a garrafa e insistiu com o outro num trago forte.
O convidado não se fez rogado. Com genuíno contentamento, declarando que há muito não sabia o que era uma gota daquele vinho, emborcou o gargalo e o líquido correu-lhe pela garganta, deslizando um bocado pelos cantos da boca. Tossiu, teve um esgar, com o álcool a fervilhar-lhe no estômago, e soltou um estalido de bom apreciador. Uns tragos a mais e ficou com a língua presa.
O álcool também produziu efeitos em Chico. Estava praticamente em jejum e o sangue aquecido deu-lhe a afoiteza suficiente para se descartar da incumbência.
- Eu tenho uma maneira de livrá-lo da pobreza.
O outro afinou os ouvidos e pediu-lhe que repetisse a afirmação. Chico, pescando outro peixe, replicou-lhe, palavra por palavra.
- Mas como...
- Casar a sua filha... aquela que aí está, junto às árvores. O chinês olhou para o perfil da filha, em risonho derriço, balançando o corpo num vaivém, as mãos seguras num ramo.
- A A-Sao? Mas ela é tão moça.
- Moça... moça, já não é. É uma mulherzinha bem casadoira. O que vai ser dela? Casar com aquele rapaz e passar a vida nos mesmos trabalhos que você e a sua mulher? Por que não a casa com um homem de meios?
O outro riu-se, como se lhe contassem uma anedota. Novo trago de vinho e renovadas gargalhadas persistiram. Havia, no fundo, o travo da dúvida.
- Eu posso arranjar para ela um bom futuro. Quanto a você, é o fim das suas preocupações.
O chinês recuperou-se dos eflúvios do álcool. As pupilas iluminaram-se, num interesse muito vivo. Aproximou-se de cócoras, estendeu o pescoço magro e Chico apanhou-lhe o bafo avinhado. Ah, quanto custava ganhar a vida!
Tornou-se loquaz. Conhecia um homem com posses. Queria uma rapariga virgem e andava desesperado por descobri-la. Era um óptimo partido. Que o Pão Sok meditasse bem. O homem não havia de esperar muito, nervoso como estava. Se a coisa fosse conhecida, zumbir-lhe-iam as casamenteiras em volta. Quem não desejaria impingir as filhas com uma oportunidade daquelas? Gostaria o Pão Sok de ceder o lugar a outrem? Arrumada a A-Sao, não seria um bem-estar certo para ele e a sua gente?
Chico já não tocava na garrafa, enclavinhada nas mãos do seu companheiro, que ia matutando a goles espaçados. De longe, a moça continuava no seu derriço inocente, as duas tranças sujas baloiçando no ritmo do vaivém. Assim, na calma e na pureza do ambiente, ia-se decidindo o porvir da rapariga.
- Há muita urgência na resposta.
Pão Sok tartamudeou hesitações, mas a cobiça instalara-se no seu semblante. Movia a cabeça ora para a filha, ao longe, ora para Chico. Este esbracejou. Não ia casar a filha imediatamente. Haveria negociações. Se as condições não fossem favoráveis, estaria sempre na posição de recuar. Do que ele, Chico, precisava era da sua anuência para se empenhar a fundo nos preliminares.
- Sim, pode falar com ele.
Chico olvidou imediatamente a prodigalidade do rio. Recolheu os apetrechos e a canastra, quase a saltar de contente. Deixou parte do peixe a Pão Sok e partiu. No caminho aproximou-se da moça, que o cumprimentou com um movimento tímido. Sentiu-se vagamente embaraçado. Antes de dobrar o carreiro olhou para trás. Divisou Pão Sok imóvel, sempre de cócoras, bebendo os restos da garrafa, a sonhar com tempos melhores.
Foi direito à loja dos vinhos. Arfava quando se plantou diante da robusta compleição de Lam Sang. À muda interrogação do chinês, ciciou-lhe a notícia.
De cima desciam cacarejes de mulheres, entretidas no tin kao. Criançada corria, rangendo o soalho, que as vigas do tecto do rés-do-chão aguentavam com protestos. Era um todo de vozes femininas que devia atordoar, dia e noite, o negociante de vinhos.
Lam Sang, a testa luzidia de suor, ouvidos aguçados, arrastou-o para um canto, a pedir o relatório das actividades. Queria pormenores, o conhecimento completo da situação.
A princípio mostrou desagrado. A garota que lhe ia renovar a virilidade era, afinal, uma indigente, chafurdando no lodaçal dum ermo da ilha Verde. Chico não perdeu a compostura nem a serenidade. Que blasfémia estava a proferir! A moça que escolhera era uma flor entre as urtigas. Se ele, Chico, pudesse, ficaria com ela. Mas não podia, tinha outros compromissos e minguava-lhe dinheiro para comprá-la aos pais. Tinha pena, mas não era nenhum egoísta. Escolhia-a para um amigo. Ao menos isso do que deixá-la perder-se por um bruto, por um sevandija que lhe rondava em torno. Se Lam Sang não a quisesse, largava-a de mão e não se falava mais nela. Incumbira-o de alcançar uma pequena, cumprira. Se não estava interessado, já a culpa não era dele, Chico.
Pusera tanta ênfase na voz que o chinês emudeceu, impressionado. Houve uma pausa e a resposta veio:
- Gostaria de vê-la antes de tomar uma resolução definitiva.
- Certo... está muito certo - exclamou Chico, já imaginando o rolar das moedas e notas para a algibeira.
A-Tai, ao contemplar o peixão saindo da canastra, teve um vago trejeito, que nela era já um sorriso. Nessa noite, na tarimba, houve estalidos de amor e no dia seguinte a mulherona não objectou que saísse de novo para a pesca.
Lam Sang, à espera, estoirava de impaciência. Trajava uma cabaia velha para não causar estranheza na ilha Verde. Partiram juntos, com poucas falas, pois ambos andavam enervados, um pelo êxito da escolha, outro por desejar encontrar-se com a mocita que lhe ia produzir o milagre.
Naquele dia de domingo havia sol e àquela hora matinal respirava-se uma brisa lavada. Galgaram as várzeas e os terrenos de San Kio e de Sá Kong, venceram as hortas entre o rio e a colina de Mong-Há e, depois duma boa caminhada, desembocavam na ilha Verde. Chico não suava tanto com o calor, que ia apertando, mas principalmente pelo risco de que o homem não gostasse da pequena. Este olhava para todos os lados, desconfiado já se o amigo «europeu» não lhe estava a pregar uma grossa partida. Tudo lhe desagradava. Não se achava no seu elemento e naqueles ermos não podia existir «uma flor entre as urtigas».
No local, a miudagem brincava num monte de latas vazias, mas o Pão Sok não estava. Ausentara-se, certamente, para um dos seus múltiplos ofícios, não crendo que o «europeu» fosse tão expedito. Nem por isso deixaram de percorrer o sítio.
A-Sao, debruçada na água, lavava roupa. Chico, discretamente, apontou para ela e aproximaram-se. Alertou-se a moça, que logo sossegou, reconhecendo um dos recém-chegados. Sorriu, baixando logo os belos olhos amendoados, numa timidez tocante; pairou um estranho desconforto no coração de Chico. Era revoltante entregar aquela cara dura a um homem de cinquenta anos para satisfazer a sua devassidão.
À pergunta respondeu que o pai fora à cidade trabalhar. A mãe continuava doente. O timbre de voz soava agradável, meiga. Com os olhos sobre a roupa, podia sentir o exame a que a submetiam, sobretudo Lam Sang, com o seu desplante de rico, a avaliar a categoria da rês. Um rubor intenso coloria as suas faces.
Ao afastarem-se, Lam Sang escarrou para o lado e disse:
- Não é feia. Mas está muito suja.
- Como queria que estivesse limpa neste curral? Mas é uma jóia. Bem lavadinha, é um prato da mais fina porcelana. Tem a inocência, a virgindade rústica de quem se não contaminou com os vícios da cidade. É uma mulher para você moldar, submissa e obediente. Não lhe ouviu a voz? Há-de sempre agradecer-lhe a vida que lhe vai proporcionar. E você terá sempre uma mulher jovem a seu lado. Ponha-lhe uns belos vestidos, arrebique-a, mude-lhe o penteado e é uma estampa. Aceitará todos os caprichos que você manifestar, como a escrava para o senhor.
Sentado sobre uma pedra, Lam Sang ia escutando a ladainha de encantamento. Não tirava a atenção de sobre a mocita e acompanhava-a nos mínimos gestos, observando o esguio flexível do seu corpo, a cinturinha e as ancas, que já despontavam redondas. Não a queria para mulher, mas refocilar-se no seu calor, em demanda de virilidade.
Chico não se demorou na pesca. Os peixes não acorriam para a isca e ele estava demasiado distraído para se concentrar. Agora, também se fascinara na contemplação da rapariga, que elevava para a anca a celha contendo a roupa lavada. Como ela andava bem!
Uma pena, uma imensa pena...
- Estou interessado - sentenciou Lam Sang, lambendo os lábios com a língua muito vermelha.
Os dados estavam lançados. Devia saltar de felicidade, já que a sua ideia triunfara. Sentia apenas um peso no coração. Aquela «flor entre as urtigas» merecia coisa melhor do que a sensualidade brutal dum negociante de vinhos cinquentenário.
- Arranja-me uma entrevista com o pai. E que seja o mais rapidamente possível.
Ordenava já, como patrão. Desde que lhe pagara, considerava-o na obrigação de o servir. Insistiu que Chico falasse à rapariga para transmitir um recado ao pai. Encaminharam-se até ao casebre. A-Sao atendeu-os, sempre acanhada, prometendo dizer ao pai a hora e o local onde eles o esperariam, sem mostras de estranheza e sem adivinhar que selava o seu próprio destino.
Um profundo mal-estar amachucava Chico. Afinal tudo fora engendrado por ele, com a mira duma compensação monetária. O que mais o comovia era a ignorância da jovem, que se curvava de respeito quando os homens partiram. Mais uma vez, a sua leviandade arrastara-o a jogar com uma vida, sem ponderar as consequências.
A conversa com o Pão Sok realizou-se num cha-kôi do Largo do Pagode do Bazar. Chico, já,meio arrependido, quis esquivar-se, mas Lam Sang foi peremptório quanto à sua presença. Evidentemente que o pai não imaginara que o pretendente fosse o homem sólido à sua frente, cerca de quarenta anos mais velho que a filha. Até acreditou, a princípio, que era para o morgado da casa e mostrou-se chocado quando soube a verdade.
Mas a cobiça suplantou os escrúpulos. Filhas tinha-as ele muitas, eram um peso, bocas a mais. Para a sua mentalidade, o que interessava eram os varões. Filhas destinavam-se a casar, a troco dum dote, e, uma vez entregues, deixavam de pertencer à família dos pais para pertencerem à do homem que as levava.
A conversa foi estritamente comercial, como se se tratasse duma mercadoria, um diálogo rasteiramente prático, que violentava os princípios morais em que Chico fora criado. Lam Sang não mostrava empenho em transformar A-Sao em sua concubina. Seguindo a linha da inspiração do rapaz, queria-a para restauro da sua virilidade murcha, recolhida, para o gozo exclusivo do comprador, acreditando nos augúrios do «europeu» e do adivinho. Quando se cansasse dela ou já não precisasse dela, atirá-la-ia fora, como um trapo inútil.
Pondo-os frente a frente, Chico perdera a condução do negócio, era uma peça dispensável no jogo e, permanecesse ali ou não, era para os outros indiferente. Detestou o cinismo de Pão Sok, que desejava tirar o máximo proveito do físico e da beleza da filha. Familiarizara-se tanto com a fome e com as privações que só tinha um fito. Falava em tom respeitoso, mas negociava com astúcia. Lam Sang não era menos detestável. Retorquia. Do alto da sua abastança, com a dureza do homem rico que sabe onde está a fraqueza do seu contendor. Mesmo que tentasse, era tarde para persuadi-los a desistir.
Arrependido por ter desencadeado os ventos, a consciência a morder-lhe, sufocava naquele ambiente de barulho e fumo e naquela conversa interminável, cada um dos outros dois a puxar os seus tentos para obter mais vantagens. Pediu que o dispensassem. Nenhum deles objectou e mais do que nunca compreendeu que a sua presença era inútil. Fizeram-lhe apenas um aceno breve, talvez mais aliviados para negociarem livremente.
Nesse momento, talvez A-Sao estivesse no seu namorico com o rapazinho da vizinhança, o corpo baloiçando-se no ramo da árvore, as tranças a flutuar ao vento. Com tal imagem na mente, os passos ecoavam tristemente nas pedras da calçada. Já não queria ganhar aquele dinheiro sujo. Era um réprobo, um mafarrico.
Evitou a loja dos vinhos por três dias. Como tinham decorrido as negociações, como fora o remate, não desejava saber. Era preferível que tudo se resolvesse à margem dele. No quarto dia, porém, quando se preparava para sair para o emprego, um sai kó parou à porta, com um recado. Era o garoto que trabalhava para o Lam Sang. Este chamava-o. Felizmente que A-Tai não estava, pois crivá-lo-ia de perguntas até lhe descascar a verdade toda.
- Diz-lhe que vou à tarde. Agora não tenho tempo.
- O patrão disse que aparecesse agora. É muito importante. Espera-o.
Era tão peremptório o fedelho que Chico não protestou. As pernas derreteram-se, moles. Não perguntou ao petiz da razão da chamada, porque, mesmo se o soubesse, não diria. O olhar do criançola, desdenhoso para tanta pobreza em redor, não animava qualquer intimidade.
Com a volta que iria dar, já não chegaria a tempo ao emprego. Era uma nova descompostura a juntar-se a tantas outras. Com um suspiro, trotou atrás do garoto. De vez em quando passava a mão pela barba, deprimido por se apresentar tão desleixado diante do negociante de vinhos.
Lam Sang, de braços cruzados, mal reprimia o seu furor quando se acercou dele. Não estava zangado, dizia, mas estranhava que durante três dias não aparecesse na loja, quando tinha obrigação disso. Tartamudeou, em troca, algumas desculpas de ocasião. Julgou que o negócio tinha falhado, mas o berro confirmou o contrário.
Se conseguira? Pois claro que sim e por um preço acessível. Acabara por vencer, pois o outro, apertado pelas circunstâncias da vida, não tinha muito campo para manobra.
- Meu amigo, aprenda. Quem tem fome e vive na mais abjecta das misérias não pode vir com muitas exigências. Eu disse-lhe por fim: é pegar ou largar. Pegou. Aqui para nós, eu daria mais, mas ele já estava amolecido.
Sorriu, escarninho, correndo a mão pelo bigode ralo, enternecido com a própria esperteza. Chico, no íntimo, indignou-se. Se era para lhe comunicar a novidade, não valia a pena convocá-lo àquela hora, podia ser da parte da tarde. Mas, hipocritamente, congratulou-o pelo triunfo das negociações. Fora perspicaz e firme. Despediu-se, fingindo pressa, mas não deu mais nenhum passo com este propósito.
- Chamei-o porque preciso de si. O meu amigo trabalha hoje por minha conta. Mandarei o sai kó prevenir, no seu emprego, que adoeceu e não pode sair de casa. Ninguém vai verificar, por um dia, se está ou não efectivamente em casa.
- Que trabalho?
- Vai-me buscar a A-Sao. Sou muito supersticioso. Foi você quem teve a ideia, apresentou-me a donzela e é você, portanto, quem ma deve entregar. Já consultei os auspícios. É hoje o dia propício. Não se preocupe com o acolhimento. Eles, lá no casebre, estão a postos. Ela já me pertence. Os pais, ontem, assinaram este papel.
Exibiu um documento em papel fino, amarelado, conhecido por «papel de pagode», todo cheio de caracteres chineses, a pincel. A consternação de Chico não podia ser maior. Tudo se fizera à margem dele, mas a pior parte cabia-lhe a ele preenchê-la.
Escutou as instruções, cabisbaixo. Uma cadeirinha estaria à espera da A-Sao à entrada da ilha Verde. Era preciso não dar nas vistas, uma cadeirinha deslocando-se nos ermos. Ele, Chico, ia procurar a menina ao casebre, trá-la-ia até à cadeirinha. Acompanhá-la-ia, no regresso, até uma ponte do Porto Interior, onde a entregaria a um barqueiro. Então receberia a paga pelo trabalho prestado e pela inspiração luminosa que lhe dera.
- Mas para onde a leva o barqueiro?
- Para a Lapa. Isto já não é consigo. Os seus serviços acabam quando a entregar ao barqueiro. Vigie-a bem durante a caminhada. Você é responsável por ela até à ponte. Tenho medo que haja uma tentativa de fuga, porque há por aí um rapazito desesperado.
- E se me esfaquear?
- Não esfaqueia nada. Você não estará completamente sozinho. Quanto ao rapazito, apanhará a sua surra para se curar de heroísmos. Se não for hoje, será por estes tempos. Não quero que a rapariga me desapareça. Senão, você é o responsável. Até hoje somos amigos...
Havia uma ameaça, feita com sorriso, mas, por isso mesmo, mais sinistra. O suor começou a latejar-lhe na testa e nos sovacos. Lam Sang, absorvendo o cachimbo de água, não despegava os olhos dele para avaliar o efeito das suas palavras. Quem semeia ventos colhe tempestades. Palmilhou tristemente o trajecto até à ilha Verde. Cada passo devorado era mais um que o conduzia a aproximar-se da A-Sao. Como ela o receberia? Afinal, participara na venda dum corpo. Sentia-se abominavelmente rebaixado por incumbir-se de semelhante acto. Que esperava então? Não fora ele o remoto autor daquela tragédia toda?
À entrada da ilha relanceou um olhar em volta e, de facto, havia uma cadeirinha vazia e parada, os condutores de cócoras, abanando-se.
- Perto reconheceu um dos empregados do negociante de vinhos. Não o cumprimentou, dobrado pela vergonha, e o chinês, impassível, também não moveu um músculo. Chico, ali, não era senão um simples lacaio.
As crianças anunciaram-no com gestos e gritaria. Não avaliavam a realidade e revelavam-se excitadas, como se um grande acontecimento tivesse ocorrido nas suas vidas monótonas, sempre iguais. O dinheiro de Sam Lang ainda não produzira efeitos nelas. Continuavam imundas, o ranho seco enegrecendo em volta do nariz. Quando ele parou frente ao casebre, a criançada calou-se, numa enorme expectativa.
Pão Sok desenhou-se no enquadramento da porta. Apresentava-se melhor vestido, mas a sujidade ainda se amontoava nos pés, nas mãos e no pescoço. Acolheu-o muito sério, com a solenidade duma grande ocasião. Fez um sinal para que entrasse, com uma pergunta seca:
- Vem só?
- Vim buscar a sua filha. Eles estão à espera na entrada da ilha. Na penumbra do casebre atordoou-o o cheiro fétido de suor e de ranço. Era uma pocilga, e não uma habitação humana. Vivia-se ali numa promiscuidade incrível, roupas, tarecos, latas e dejectos, a trouxe-mouxe, sem ordem nem limpeza. Mas este era o lar de A-Sao. Por isso, num canto, sentada, trajando o seu melhor vestido, a rapariga chorava.
Era um quadro desolador. A mãe, no catre, soergueu-se, pálida e desgrenhada, no meio de farrapos, para o cumprimentar. O choro de A-Sao aumentou, uma silhueta triste que ia brutalmente separar-se dos seus para sempre, para um destino que ninguém sabia ao certo em que resultaria.
Pão Sok ralhou à filha por aquele pranto destemperado. Ia para uma vida melhor, não conheceria mais a miséria. A irmã segunda, para a consolar, acertava-lhe as tranças. Fitava com despudor Chico, numa atitude que bem dizia como gostaria de trocar o lugar com a mais velha. A mãe, então, falou. Se anteriormente protestara ou não contra a separação, nada se podia concluir da sua voz fraca. Pelo menos, nessa altura, estava resignada. A venda da filha iria aliviá-la das maleitas. Da sua boca brotaram conselhos. Era uma despedida dolorosa e havia uma vaga ternura na sua voz. Os prantos de A-Sao cresceram quando finalmente se pôs em pé.
Chico dirigiu-se à porta para cortar a cena, que o oprimia. Cada soluço de A-Sao era como se fosse uma punhalada. Mãe e filha não se tocaram, apenas esta se curvou num aceno. Não houve da parte do pai e dos irmãos qualquer grito histérico nem berreiro inopinado. Mas tudo era triste, muito triste.
A moça transpôs a porta e nunca mais olhou para trás. Ia resignada também, mas direita e digna. Sabia que não podia alterar o destino. Já não pertencia àquela família. Continuava a chorar, baixinho, em soluços mais espaçados, mais reprimidos. As lágrimas deslizavam, inchando os olhos e as faces. Estava feia. Chico não se atrevia a encará-la. Calcorreava à frente, uns passos afastado, sentindo-se um verme. Maldita a sua imaginação, que desencadeara todo aquele drama de que era o principal culpado! Só por causa duns cobres! Quaisquer palavras de consolação seriam extemporâneas, um insulto para a rapariga. Como ela devia odiá-lo!
Ao longe, entre as árvores, divisou o vulto do jovem que derriçara A-Sao. Vulto imóvel e patético, esmagado pela cruel realidade, que também era impotente para modificar. À medida que se iam afastando, o vulto começou a mover-se, sempre à distância. Apesar da garantia de Lam Sang, Chico pensava na faca a penetrar-lhe nas costas.
À saída da ilha Verde, uma vez indicada a cadeirinha, a rapariga, sem a menor resistência, sentou-se nela. Talvez fosse a primeira vez que gozava do privilégio deste transporte. Mal se instalou, a cadeirinha foi fechada e corridos os panos das janelinhas, para que nenhum bisbilhoteiro visse quem era o passageiro. Chico pretendeu afastar-se para a berma da rua, como se nada fosse com ele, mas o empregado de Lam Sang indicou-lhe o lugar, lado a lado com o condutor de trás.
Lá dentro rebentou novo choro. Agora encerrada, A-Sao dava largas à sua desgraça. O empregado abanou a cabeça e comentou alto para Chico. Não compreendia como é que uma criatura se desesperava quando ia para uma vida melhor. Os condutores, escarninhos, elevaram os varais até aos ombros e a cadeirinha baloiçou suavemente, à cadência dos passos.
Para Chico foi um trajecto difícil. Não era muito vulgar ver-se uma cadeirinha escoltada por um «europeu». Atraía a curiosidade, sobretudo quando deixaram as várzeas, as hortas e terrenos baldios e chegaram à cidade propriamente dita, penetrando na «cidade chinesa».
Chico suava, imaginando em cada canto o volume de A-Tai. Se o surpreendesse, vociferaria a perguntar, com o varapau em riste, o que aquilo significava. Faria uma cena medonha. Portanto, ele tinha náuseas, dores no ventre e nervos em pilha. Limpava vezes sem conta a testa aljofarada de humidade, os olhos esbugalhados, verrumando, à frente e à retaguarda, cada transversal e esquina, os pés trôpegos e em comichão. Foi nessa devassa aterrorizada que descobriu o jovem da A-Sao a segui-los sempre à distância. Não dizia nada, não esboçava qualquer gesto hostil, mas acompanhava a cadeirinha, como se caminhasse para um calvário.
Tudo, porém, tem o seu termo. Chico, que parecia mais velho naquela hora difícil, viu chegado o fim dos seus tormentos quando a cadeirinha orçou para a zona das pontes-cais. A-Sao já não chorava, talvez até tivesse adormecido, arrasada como estava. Mais cinco minutos, a cadeirinha parou diante duma velha ponte de madeira carcomida. Os condutores desenvencilharam-se dos varais, enxugando-se em toalhas enegrecidas e esburacadas. Lam Sang não estava presente, mas sim o encarregado das contas da loja. Todos os subordinados conheciam o capricho do patrão. Também as esposas?
A-Sao saiu por fim, os olhos vermelhos, o rosto desfeito, muito direita, apenas com leves estremecimentos nos ombros. Era um autómato, escondendo na máscara do semblante um imenso medo por todos aqueles desconhecidos. Nem sequer indagou por que a levavam para um tancá. O seu destino selara-se e ir para esta ou para aquela direcção não o mudaria.
Chico concluíra a sua missão, ficando junto ao muro, a vê-la partir. Tinha lágrimas nos olhos. Nem se lembrara de perguntar ao barqueiro pela paga. Quando o tancá já vogava ao largo do rio, em direcção da Lapa fronteira, alguém lhe tocou nos ombros. Era o encarregado das contas, que lhe agitava um envelope vermelho. Afinal, o Lam Sang não se tinha esquecido. Era a comissão. O outro, sem o mínimo comentário, virou-lhe as costas com desdém. Já não era mais preciso.
Ao meter o envelope na algibeira, teve um estremecimento desagradável. Junto à muralha, olhos fixos no tancá, que já era apenas um ponto indeciso no rio, o jovem da A-Sao pranteava, numa dor silenciosa, o desânimo e a frustração dobrando-lhe as costas. Era uma figura de pena, e não de ameaça, um inofensivo. Dele não viria nenhuma facada, pelo menos naquela altura. Chico, coberto pelo remorso, tratou de fugir do local. A surra prometida do Lam Sang havia de lhe tirar quaisquer veleidades de vingança.
No fundo da algibeira, o envelope queimava. Quanto era a sua comissão? Depois de tanto trabalho, tanto empenho e remorso, era justo que lhe pagasse bem. Não soubera ser comerciante, não fixara preço nenhum, contara apenas com a generosidade do dador, que tinha por obrigação compensá-lo devidamente.
Não se atreveu a verificar o envelope à vista da rua. E se, por um azar, aparecesse a A-Tai, por ali, de repente? Não, o melhor que tinha a fazer era abrigar-se em lugar calmo e discreto, onde não estivesse sujeito a extemporâneos encontros. O estômago dava-lhe guinadas de fome. Não comera nada desde manhã, andara à poeira e ao sol, esgotado de forças e de nervosismo.
Tinha dinheiro para uma refeição portuguesa, suculenta e regada com uma garrafita de tinto. Apressou-se a galgar ruas até o tasco dos marinheiros, vazio àquela hora. Abancou-se a uma mesa, pediu o que quis e, enquanto aguardava, extraiu finalmente da algibeira o envelope. Olhou para os lados, ninguém se fixava especialmente nele e começou a contar as notas.
Ficou revoltado. A quantia era modesta, muito abaixo do mínimo que podia calcular. Soltou uma exclamação desiludida. Em silêncio, vociferou contra a avareza do negociante de vinhos, que se aproveitara da sua boa fé para lhe pagar uma ninharia, depois de tanto empenho e risco. Valera a pena desinquietar a rapariga, que, de qualquer modo, parecia feliz na sua miséria, e ficar com a carga de remorsos para tal remuneração? A realidade da sua patifaria esmagou-o mais ainda. O intrujado fora ele, afinal.
Consolou-o a refeição, mas, ao sair, a indignação voltou a pungi-lo. A sua chegada ao beco não causou estranheza nenhuma. O dinheiro preocupava-o agora. Como justificá-lo a A-Tai? Era demasiado, em comparação com aquilo que habitualmente possuía. Relutava entregar-lho, engendrando uma mentira. Aquilo era fruto do seu trabalho e parecia-lhe injusto que a amante se apossasse dele. Podia gastá-lo em melhoria de rações lá fora, uma visita ao Beco da Rosa e outros luxos. Tivera já a imprudência de comprar um maço de cigarros de tabaco preto de Manila, coisa que já não provava há muito. Deitá-lo fora, porém, era um desperdício.
No cubículo infecto, sentado na tarimba, transpirou, queimando os miolos, à procura dum lugar seguro, que não o buraco na parede ao nível do chão, que não lhe parecia muito seguro. Esforçou-se para se lembrar dos sítios menos prováveis que A-Tai tocasse. Não viu nada e a urgência em despachar-se aumentava, pois ela chegaria a qualquer momento. Resolveu meter os seus tesouros no mesmo buraco, arrastado pela emergência. Quando a mulherona se anunciou, irritada, a cara crestada e empastada de poeira, queixando-se de que correra mal o negócio, Chico apagou-se para que ela não lesse os seus pensamentos. Não evitou a brusquidão nem a descompostura habitual. Tinha um ar culpado e, se ela tivesse disposição para ser mais perspicaz, suspeitaria de algo. Como descera tanto para tremer diante daquela mulher descalça e grosseira, inconcebível nos seus tempos de grandeza! Até um maço de cigarros tinha de esconder dela!
A-Tai não descobriu nada naquela noite e nas noites seguintes. Então ele ganhou ânimo e não pensou em mudar os seus tesouros para outro esconderijo. Sentia uma alegria estranha em enganá-la e livrava-se do vexame de lhe pedir humildemente dinheiro. Mas foi isto mesmo, o não choramingar os cobres para os gastos, que acabou por chamar a atenção da amásia. Depois, não comia a sua refeição com apetite voraz, como se se alimentasse por fora. Ao varrer debaixo da tarimba, descobriu uma beata de cigarro de tabaco preto, luxo que ele não podia sustentar com o que lhe dava. Apesar de enfurecida, queria apanhá-lo com provas irrefutáveis. Tal decisão, numa mulher explosiva, não era nada fácil. Se Chico fosse menos estouvado, havia de desconfiar das suas súbitas amabilidades.
Como não pudesse permanecer em casa, pôs algumas inquilinas de vigilância. Chico não gozava de simpatia nenhuma ali dentro. Não gostavam do «europeu», mas, como era pertença da mulherona, tinham-se resignado a aturá-lo. Aquele foi o ensejo para um ajuste de contas.
Chico, entretanto, tinha acalmado os escrúpulos. Dias depois da entrega de A-Sao voltou à loja dos vinhos para saber dos resultados. Ainda contava que Lam Sang lhe abrisse de novo o cordão à bolsa.
Efectivamente, encontrou-o sereno, a testa brilhando de saúde, todo ele movendo-se rejuvenescido. Fumava placidamente o seu cachimbo de água, como se agora gozasse duma magnífica paz interior.
Chico sentou-se num canto e pediu o seu copito de sam-cheng. Não houve oferta da reserva e compreendeu que tinha de pagar. Já não era senão um freguês como outro qualquer. Engoliu a diferença, porque a curiosidade acicatava-o. Agitou-se no banco de bambu e, untuosamente, perguntou:
- Ficou satisfeito?
Lam Sang deitou-lhe um olhar severo. Estava, porém, demasiado feliz para se zangar a valer por aquela intromissão na sua vida privada. Era uma pergunta impertinente, mas replicou porque, afinal, Chico fora o arquitecto da sua felicidade recente:
- Estava muito arisca no princípio. Nem se queria banhar. Tive de chibateá-la. Depois a resistência cessou. Você tinha razão! Uma donzela restaura a virilidade.
Chico apreciaria ouvir mais confidências. O negociante de vinhos, porém, não estava pelos ajustes.
- De hoje em diante não quero conversar mais sobre isto. Exijo silêncio, discrição. Você já recebeu a sua paga e esqueça o acontecimento. É melhor para todos.
Chico não se demorou, o ingrato mandava-o àquela parte. E contar com mais dinheiro era como acreditar num conto de fadas.
Uma semana depois, voltava devagarinho para casa, enchendo de fumo de cigarro a camisa enxovalhada, para disfarçar uns resquícios de perfume barato da prostituta do Beco da Rosa. Era um dos «luxos» que o dinheiro de Lam Sang lhe facultara. Estava farto da carne estafada da A-Tai e queria variar. Ah, se tivesse mais proventos, fugiria do antro para ares mais salubres.
Também fora à prostituta para dissipar apreensões. No emprego tinham-no ameaçado de que não podia andar tão desmazelado e tão impontual. Não acreditavam nas suas faltas por doença. Que tivesse mais juízo e fosse mais cuidadoso na apresentação. Não tinha ilusões. Suportavam-no ainda por causa do P.e Serafim. Há muito que desejavam espantá-lo dali.
Ao dobrar o beco, divisou logo A-Tai, uma das mãos pousada na anca e a outra munida do varapau. Estremeceu. Teria ela descoberto que visitara o Beco da Rosa? O primeiro impulso foi de recuar, mas gente curiosa crescia atrás dele. Avançou com ar incerto, esperando uma trovoada medonha, tentando desesperadamente engendrar uma justificação mirabolante.
A-Tai vibrou com o varapau, mas ele desviou-se a tempo. Mas não foi tão lesto que ela não lhe deitasse a mão a uma orelha. Um puxão forte curvou-o. Foi arrastado para casa, no meio de palmas e risos do beco, que assistia gratuitamente ao espectáculo duma mulher a sovar o seu homem. No cubículo viu sobre a tarimba o envelope vermelho e o que restava do dinheiro. Fora, portanto, descoberto. Por entre as frinchas, olhos espiões tinham localizado o buraco. Devia ter sido nessa manhã, quando se demorara a tirar um bocadinho das notas.
- Onde conseguiste isto? - berrou A-Tai, sem largar o apertão.
Gaguejou palavras incoerentes, sem achar o fio da meada. A surpresa, que não devia ser surpresa nenhuma, cilindrara-o. Punhadas da mão livre choviam-lhe sobre a cabeça e as costas. Na porta do cubículo surgiam inquilinos que animavam a mulherona a aumentar a tunda e o enxovalho.
Durante largo tempo, entre berros e palavrões, ela interrogou-o. Bofetadas interrompiam, de vez em quando, as perguntas. Decididamente aterrorizado com todo o mundo que se virava contra ele, despejou, aos poucos, a verdade. A-Tai uivou, espumando de raiva:
- Só conseguiste esta ninharia dum homem rico? Seu estúpido, seu palpavo. Não serves para nada, és um inútil. Tão bom negócio... para uma tão pobre retribuição. Por que não me disseste?
- Podias não gostar.
- Mentes. Tu querias mas é intrujar-me. Queria-lo para ti. E eu que te cozinho o arroz... que trabalho noite e dia. Bandido... patife! E o pai da rapariga? Não lhe pediste nada?
- Nada...
Novos uivos, novos bofetões. A casa toda comentava, censurando-o e apoiando a indignação da megera. Se havia alguém mais parvo que este estafermo!
- Isto não vai ficar assim! Este dinheiro é meu... Não posso tolerar que te intrujem... porque é intrujarem-me a mim! Não vou admitir que se ponham a rir-se também de mim!
Largou, por fim, a orelha, em cuja base havia um pequeno rasgão. O fiozinho de sangue conteve-a. Mas a provação de Chico não cessou. Ela não lhe deu de comer, nem lhe permitiu que se deitasse na tarimba. Ficaria ao relento, na porta, e ai dele se pensasse em desaparecer.
O beco, solidarizando-se com ela, jurava vigiá-lo. Perdido naquele ambiente hostil, onde nunca se fizera respeitar, figura caricata só para chacota e desprezo, mirava dum lado e doutro, como um animal encurralado. Descera tão baixo que já não tinha o sentido da honra e da dignidade, a cobardia e o rebaixamento tolhendo-lhe as forças. Sentado na pedra enlameada da porta, ao relento, nunca a noite foi tão longa, fúnebre e interminável, como se velasse um cadáver, o seu próprio.
Como jurara, A-Tai não ficou por ali. Tinham enganado o parvo do seu homem e era também um insulto para ela. Não se detendo com escrúpulos, logo pela manhã, enquanto Chico partia para o emprego, mais combalido e desmoralizado que nunca, acercou-se da loja dos vinhos. O patrão não estava, disseram-lhe secamente. Rondou pelas proximidades e voltou. Já se tinham esquecido dela e foi o próprio Lam Sang quem lhe respondeu que carecia de tempo para atendê-la.
Era arrogante, estava habituada a ser temida e respeitada no seu bairro como uma matriarca. Passara a noite a meditar, a planear. Acordara irritada, mesmo explosiva. A insolência do ricaço, palitando os dentes, com gestos de maus modos, como se ela fosse esterco, quebrou-lhe a paciência.
Reagiu como um petardo. Aos altos berros, desfiou a ladainha toda. Atraiu as atenções da rua; dentro em pouco, um povoléu acumulava-se, mórbido de escândalo. O segredo da aventura, a discrição exigida, desvaneceram-se. A boca rota da A-Tai esparramava-se em pormenores escabrosos. Lá em cima, as duas mulheres ficaram a conhecer que o seu digníssimo esposo guardava uma outra, algures, numa casinha da ilha da Lapa. Vieram para baixo, em choradeira, juntando-se-lhes as filhas, também em berreiro. Branco de raiva, sentindo-se desmascarado e nu, Lam Sang ameaçou. A-Tai, apoiando uma mão na anca e brandindo com a outra, o indicador subindo e descendo, desafiou:
- Se me tocar, vem o bairro inteiro contra si. Seu velho crápula, que dorme com criancinhas. Vou aos tribunais, vou à Polícia do Rei... vou ao Governador.
O homem titubeou. A ideia de que sequestrara, contra vontade, uma rapariguita e a metera a ferros e a chibata, violando-a depois, era um caso para enxovia. O estardalhaço chamaria a lei e daí as investigações. Faleceu-lhe o ânimo, ao surgir-lhe o espectro duns anos entre as grades, quando tudo corria à medida dos seus desejos. Convidou A-Tai para dentro, mostrando-se, desde então, conciliador. O que afinal ela queria era mais maquia. Pois discutissem, porque nada era melhor que uma conversa em termos calmos. Perdera já a face, mas não totalmente. Havia que salvar o que poderia salvar daquele sujo negócio.
As duas mulheres do negociante também defendiam a conciliação. Estavam desgostosas, mas aquele homem era o marido. Aliás, o facto estava consumado e não ajudava nada olhar para trás. Por outro lado, aquele marido voltara a distribuir irmamente os deveres conjugais. De toda aquela podridão houvera um resultado extremamente positivo.
A conversa desenrolou-se por uma hora. Comeram-se laranjas e bebeu-se chá. Lam Sang, que aspirava pela harmonia, dentro e fora de casa, receoso de prejudicar o seu bom nome e o negócio, resignou-se a abrir a bolsa. Cada um puxou pelos cordelinhos, para uma maior vantagem, mas chegaram, por fim, a acordo, depois de secarem muita saliva, à boa maneira chinesa. A-Tai contou e recontou o dinheiro e deu-se finalmente por satisfeita. E saiu, os dentes de ouro fulgindo ao sol. Cá fora, o povoléu já se dispersara e o escândalo abafou-se.
A-Tai, no entanto, não deu por concluída a sua missão. Foi à ilha Verde falar com o pai da ASao. Na sua mente, ele tinha por obrigação dar também uma percentagem pelos serviços do amante. Utilizou os mesmos métodos. À entrada gritou e manejou o varapau do ofício, rasgando o ar. Encontrou pela frente um homem escanzelado e tartamudeante, incapaz de defrontar o seu físico. Pão Sok melhorara de condições de vida, mas não tanto como se podia esperar, porque a pobreza ainda rondava por ali. Exigir dele uma parte seria como extrair o seu sangue.
A vendilhã ambulante vira e sofrera muito para se sensibilizar com a situação dos outros. O seu cubículo não ficava muito acima do nível da cabana. Barafustou contra a má fé, a falta de seriedade. Pão Sok, humilde, mostrou-lhe a mulher doente e o rol de filhos, encolhidos de terror. Então, os olhos da A-Tai caíram sobre a filha segunda e teve uma ideia.
- Se eu negociar esta rapariga, dar-me-ei por contente. Conseguirei um bom preço por ela.
Os olhos avaliadores não despegavam da moça, que gostosamente se deixava examinar. Estava farta da fome e a situação da mais velha acordara-lhe ambições. O gemido da mãe e a exclamação do pai não a comoveram. Embora calada, era eloquente o sorriso afoito com que se dirigia à megera.
- Confia nesta tua «tia» que te arranjará um futuro cheio de dinheiro, jóias e boa comida.
Pão Sok emudeceu e depois anuiu às propostas da vendilhã ambulante, que partiu sorridente, por achar uma solução para a sua cobiça. Calcorreou pacientemente o caminho do regresso, sem se fatigar, porque se habituara a andar quilómetros todos os dias. Tinha um destino. Era a Rua da Felicidade, onde se reuniu a uma das «patroas» que lhe compravam gulosamente os achares.
Mais uns vaivéns entre a ilha Verde e a Rua da Felicidade e a mocita foi aceite na «casa das flores», como aprendiza, iniciando o treino para cantadeira. O preço foi reconfortante para o Pão Sok, e a A-Tai, comendo dos dois lados, pôde descansar dos seus esforços.
Os tormentos de Chico, porém, não cessaram. Por tudo e por nada, a amásia lembrava-lhe a incapacidade e a parvoíce. Viu-se com menos cobres para as suas necessidades do dia-a-dia, fumando cigarros dos mais ordinários, maltratado, numa disciplina de ferro. Já não podia ir à loja dos vinhos, porque o patrão não lhe perdoara o escândalo. Deixou também de ir à pesca na ilha Verde, para não encarar o Pão Sok. Não ficara com dinheiro que se visse do «negócio» e, para maior desgraça, a recordação da A-Sao a chorar foi juntar-se a outras fisionomias que perseguiam as suas noites de insónia e pesadelo.
Na noite em que A-Tai regressara toda triunfante dos seus êxitos acordou com comichões nos pés. Torturou-se por não coçar, para não perturbar a companheira, que dormia a seu lado. Na manhã seguinte localizou umas bolhas nas juntas dos dedos e na parte superior da palma dos pés. Lavou-as com água fria, obteve um ligeiro alívio e foi para o serviço. A comichão insistiu em atacá-lo, de forma a causar-lhe arrepios. No emprego, no quartinho reservado ao porteiro, descalçou as meias e coçou-se até se chagar. No fim da tarde, a caminho do beco, coxeava, persistindo a comichão.
Passou a ser uma coisa crónica. Como aquilo aparecera? Que doença a atacava? Teria sido porque se metera com a prostituta do Beco da Rosa? Mas nunca ouvira falar em qualquer doença venérea nos dedos dos pés. Não era o sítio próprio. Apesar de todas as estúrdias, até com mulheres pouco limpas, escapara a qualquer mal vergonhoso e nunca tivera de ir ao Padilla «espanhol» para implorar a cura. Então que tinha? Assustou-se.
Lavar os pés não era remédio. As borbulhas transformavam-se em pequenas pústulas amarelas de pus e, desfeitas umas, apareciam outras. E, como coçasse, transformavam-se em chagas. Fez-se médico de si mesmo, implorou à A-Tai que fosse mais pródiga nas moedas. Lembrou-se das mezinhas da tia para cura de eczemas e impigens. As pomadas adquiridas aliviaram-no, a princípio, e julgou-se restabelecido. Mas foi sol de pouca dura. Tudo recaiu na mesma, com redobrada fúria.
O que precisava era dum ambiente asseado. Como encontrar isso naquele tugúrio infecto, numa casa sem sanitários, onde as necessidades fisiológicas se faziam na cloaca comum e fedorenta, onde se lavava também, de tempos a tempos, respirando as mais execrandas emanações? Não podia trocar as peúgas todos os dias, não havia toalhas limpas, sabão para tirar os suores e humores, água cristalina e abundante sobre a pele.
Se tivesse quem olhasse por ele, quem o tratasse. A amante, cansada dum dia inteiro na rua e de coração empedernido, não perdia horas com ele. Tinha-o para um fim apenas. Berrava ao vê-lo coçar-se, chamava-lhe «porco» e «peçonhento», entre outros epítetos grosseiros. O ânimo dela azedava-se porque a não deixava dormir dum sono único. Chico agitava-se constantemente, naquela mistura de comichão e de dor das chagas ao vivo. Nem punhadas e safanões o continham de se levantar para aplacar os tormentos, dilacerando, com as unhas negras de sujidade, a pele, de si já infecta.
A situação tornou-se cada vez mais precária para ele. A-Tai já não o queria para as práticas de amor. Fora bom, enquanto animal para a cama e para aplacar o cio. Agora já não prestava para nada, tinha nojo dele e, se o tolerava, é porque ainda aguardava pela cura.
Mandou-o para um curandeiro da Rua dos Ervanários que gozava de fama de milagreiro em doenças de pele. Possuía um aspecto respeitável, com a sua longa barbicha grisalha, sinal da profissão. O doente, ao descalçar as peúgas, manchadas de secreções e de sangue, reparou que o «mestre-china» desviara a cara para evitar a emanação. Examinou de longe, mal ocultando a repugnância, e a expressão contraída da testa não augurava um favorável diagnóstico. Salmodiou uma lengalenga que Chico não compreendeu. Solicitando melhor explicação, em cantonense chão, o curandeiro, contrariado, resumiu:
- Mulheres... muitas mulheres. Mau sangue... maus humores.
Mulheres, sim, tivera-as muitas. Mas elas não faziam nascer doenças nos dedos e nas palmas dos pés. Duvidou imediatamente da ciência do venerável ancião, que lhe entregava um recipiente contendo uma pomada castanho-escura e lhe escolhia das gavetas folhas e ervas para tisanas, indicando como devia cozê-las, o tempo que demoraria a fervura e as horas do dia para ingeri-las.
Chico preparou o chá, de sabor enjoativo. O pior foi o unguento. Tresandava, o cheiro penetrante a invadir, pelas rachas e frinchas, outros cubículos. Sentiu melhoras e acreditou na cura. As tisanas, porém, provocavam-lhe solturas intestinais e teve de desistir delas. Os «furúnculos» voltaram, pequeninos e malévolos, com a cabeça de pus e o sofrimento. O unguento, sozinho, não trazia a cura. Apenas aliviava temporariamente.
No cubículo sufocante, o odor dos seus pés e do unguento tornaram-se insuportáveis. A amásia manifestou abertamente a sua repulsa. Juntara-se a ele para ter um companheiro, mas esse homem inútil, duma raça que não era a sua, classificara-se há muito como um fardo pesado. E fora atacado por uma doença secreta que talvez a contagiasse. Já não tinham relações, obrigara-o a dormir numa velha «burra», separado dela. O que ficara era apenas o nojo. A pestilência não a deixava pregar olho. Era uma mulher de trabalho que buscava a noite para descanso. Melhorara de condição desde que negociara a venda da segunda filha do Pão Sok. Descobrira queda para tal negócio, que rendia mais do que ser vendilhã de achares.
Nisto apareceram doenças e febres noutros inquilinos. Começaram os coros de queixas e o vozeirão de que era Chico a fonte daquelas mazelas misteriosas, concentrando sobre a sua pobre carcaça todas as culpas e todos os rancores. Chico fugia para a rua muito cedo, para se esquivar o mais depressa possível da sarabanda de insultos.
Perdeu o emprego. O cheiro fizera os seus efeitos na casa de caridade, elevando-se a mesma ladainha de protestos. Um servente desmaiara e, antes de desfalecer, apontara para os pés de Chico. Nem o valimento do P.e Serafim evitou o remate. Havia muito que o queriam despachar e este foi o melhor pretexto. Não disse nada à amante da nova desgraça e por dois dias, fingindo ir ao trabalho, vagueou pela «cidade chinesa», torturado para cumprir as horas, encostando-se aqui e sentando-se acolá.
Ao cair da noite do segundo dia, quando dobrou a esquina do beco, encontrou A-Tai à porta. Repetia-se o quadro da descoberta do envelope vermelho? Desta vez tinha consciência de que não andara em falta. A amásia estava em atitude ameaçadora, com o inevitável varapau nas mãos. Esboçou um sorriso e ficou hesitante, a aguardar que se arredasse para dar passagem.
- Leva as tuas coisas e desaparece.
Fingiu-se de parvo. Ela insistiu, a voz estentorosa, apontando a sua trouxa, atada à lufa-lufa. E gritou:
- Eu e todos os moradores desta casa deliberámos que não podes continuar aqui. Não queremos viver com um homem podre, de males indefinidos. Já há demasiadas pessoas doentes. Vai-te embora.
Mas o quarto está-me arrendado a mim.
- Já falámos ao proprietário. Ele concordou... Eu tenho que dormir em qualquer lado.
- Não aqui... Acabou-se.
Ergueu o varapau para intimidá-lo. Outros moradores avolumaram-se atrás da matriarca armados de varapaus e mais utensílios de agressão.
Sentiu pânico e náuseas. Não havia piedade em nenhum dos rostos. Os pés, em comichão, mordiam-no, causavam-lhe arrepios. Estava inferiorizado e indefeso, pois a única coisa que pretendia naquela ocasião era descalçar as peúgas. Fez menção disso mesmo, a despeito de toda a situação humilhante. O gesto, porém, foi mal interpretado.
Uma paulada atingiu-o nas costas. A amante descarregara-lhe com a força possante dos seus braços, numa explosão de aversão, como sinal de guerra. Outras se seguiram. O estardalhaço atraiu a vizinhança, que acudiu à rua. Alguém, de repente, bramiu:
- Leproso... leproso...
Palavra fatídica que apavorou a rua. Instintivamente recuaram, mas logo voaram roupas, objectos e pequenas coisas que restavam da antiga opulência de Francisco da Mota Frontaria e se espalharam na lama viscosa do beco, que não possuía esgotos.
Era preciso fugir, antes que os algozes recobrassem ânimo e se agrupassem para uma nova carga. Apanhou, ao acaso, aquilo que pôde e lhe estava à mão. Não se esqueceu do pote do unguento e do retrato enrolado da Títi Bita. Escapuliu então, coxeando, por entre impropérios e chufas. Não podia regressar jamais, descera o último grau da indignidade. Em desespero, duvidou até de que as autoridades o ajudassem naquele transe. E havia a vergonha.
Fora do beco apoiou-se, arfando, à parede dum velho casarão. Sonhara, amiúde, desprender-se do antro, fugindo. Conseguira o seu desiderato, sendo corrido. A testa ardia-lhe, pungiam-no dores nas costas. Então, o peso da sua situação sem remédio atingiu-o, com toda a crua realidade. O abandono da A-Tai desarvorara-o. Nesses quase dois anos, ela fora o seu sustentáculo. Comera sempre mais dela do que a embolsara com o seu parco salário. Disciplinara-o, destituíra-o de personalidade e habituara-o a viver à sua custa. Ainda pairou na pobre cabeça implorar-lhe de novo guarida. Mas não, seria baixeza de mais. O caso estava arrumado, fechara-se um capítulo da sua vida.
A quem pedir auxílio. Quem havia de ser senão o P.e Serafim? Não o visitava há muito, por acanhamento e pela relutância de se submeter às suas insidiosas perguntas. Mas agora já não havia remédio. Lentamente, com as poucas roupas, o retrato da tia e o pote de unguento, moveu-se por vielas, becos e rebecos, para a casa do padre, envidando o máximo possível para não enfrentar pessoas conhecidas.
P.e Serafim terminava a leitura do breviário e preparava-se para se sentar à mesa para a sua frugal refeição. O dia correra-lhe calmo e frutuoso no apascentamento do rebanho do Senhor. Ao toque da campainha, suspirou, crendo que alguém o procurava urgentemente para dar a extrema-unção a um doente.
O aparecimento de Chico, àquela hora, surpreendeu-o desagradavelmente. Pela forma como surgia, enxovalhado, a cara inchada, barba de dias, olhar alucinado, uma braçada de roupa suja entalada no sovaco, não augurava coisa boa.
O velho criado que abrira a porta levou as mãos ao peito, como se o Diabo se lhe plantasse à frente. Balbuciou, de repente, fitando os pés do visitante:
- Que fedor...
P.e Serafim, após o sobressalto, afivelou um rosto severo. Franziu o sobrecenho. Mais uma cruz das muitas que aquele estouvado lhe sobrecarregava às costas. Logo se atrapalhou, tocado pelo odor que vinha dos pés do celerado e invadia o aposento. Perdeu o apetite. Chico nem sequer lhe pediu licença para se sentar. Afundou-se com todo o peso na cadeira, torcendo-se de alívio. O padre não foi capaz de lhe apontar a porta, como já fizera doutras vezes. Apenas constatou que continuava sem juízo, criatura perdida, sem esperança de regeneração.
Chico não esperou pelas perguntas. Falou confusamente e desenrolou uma história sórdida. Perdera o quarto, fora corrido pelo resto dos inquilinos. Mesmo que se queixasse às autoridades, e tinha certamente direito a isso, não podia retornar ao antro, com os ânimos contra ele. Matavam-no. É claro que nada disse sobre a amásia. Evocava apenas uma «mulher» que chefiava aquela súcia e nutria por ele um ódio de morte. O padre, que sabia da ligação pecaminosa, escutou-o austeramente, nada comovido com a doença que lhe carcomia os pés. Afastou o pote do unguento, aspirando pitadas de rapé, e só amaciou o duro carão quando Chico lhe estendeu o retrato da tia, que salvara do descalabro.
Querendo confirmar o mal que o cruciava, Chico descalçou os sapatos e mostrou as horrendas peúgas esburacadas e fedorentas. O criado atropelou-se para a cozinha, com os dedos no nariz. p.e Serafim, esverdeado, vergou o espaldar da cadeira para trás. Chico, não resistindo, com a sem-cerimónia do desespero, principiou a coçar, com as unhas negras de porcaria, gemendo, não se importando com a expressão do santo homem.
Estralejou o berro colérico do padre:
- Furúnculos... borbulhas? Isto é mas é porquice! Isto é a coisa mais repelente que ainda vi! Isto é podridão... isto é a paga da tua vida promíscua e crivada de vícios! Vai já lavar esta coisa horrenda... vergonhosa! Que cheiro! Onde se viu uma coisa destas. Oh, em que cano te meteste... meu filho. Que pecados tens no corpo, para assim te castigar o Senhor! Não coces... Proíbo-te que coces. Vai-te lavar, desgraçado!
Pulou para abrir as janelas, não se importando com a humidade, que tanto mal lhe fazia ao peito e ao catarro. Sorveu uma nova pitada de rapé, para desentupir do nariz as emanações.
- Mando-te amanhã para o hospital. Isto não são feridas... é gangrena! Encarregar-me-ei de tudo. Não é por ti que faço, é por tua tia, que Deus tenha, e era uma santa. Por ti, deixava-te apodrecer, porque o mereces. Chegar a este ponto, a esta peçonha! Se ela te visse agora, morreria imediatamente. Chamava-te «querubim»... Devia chamar-te «excomungado»! Joga esse horrendo remédio para a rua.
- Não posso, P.e Serafim, com todo o respeito. Por esta noite, deixe-me ficar com ele. Nada mais me diminui a comichão.
- Vou prevenir o teu tio.
- Peço-lhe, não faça isso, por favor. Recusar-se-á a ajudar-me. Ele jurou... há-de cumprir. Prefiro morrer, a implorar-lhe qualquer coisa. Não queria que me visse... assim.
P.e Serafim, em resposta, indicou-lhe o caminho para a casa de banho. Chico, agradecido, arrastou-se, apoiando-se aqui e ali. Era um desfilar da miséria personificada. Apertou-se o coração do padre. Apesar de todas as desilusões, não podia desanimar em salvar aquela alma. Sorvendo uma redobrada dose de rapé e espirrando sem rebuço, disse:
- Estás patibular. Mando-te o barbeiro para cortar esta guedelha e esta barba indecente. E dou-te roupa nova. Tens sorte. Hoje recebi roupa para os pobres.
Não adregou voz para responder. Se não fosse aquele homem, onde estaria? Ao relento da noite, à fome, encolhido numa valeta, para ser acudido pela caridade pública como um indigente.
- Amanhã sentir-te-ás melhor no hospital.
- Se me receberem.
- Recebem. Não te vão negar uma cama e eu sei falar. Ou aquilo não é pertença da Santa Casa da Misericórdia?
Demorou-se um ror de tempo na casita de banho. Lavou-se o melhor que podia e tratou dos pés, entrapando-os com panos imaculados. Embora não pudesse ser médico ou enfermeiro de si mesmo, sentiu-se melhor. O cheiro persistia, mas mais atenuado, mais suportável. Esfregou a sujidade da cara, do pescoço e das unhas. Há quanto tempo não consumia minutos naquelas minudências tão necessárias. Usou roupa limpa destinada a pobres como ele. Contemplando-se ao espelho, convenceu-se de que estava mais apresentável.
Comeu, depois, todo o jantar do padre, denunciando uma fome velhíssima. P.e Serafim, em silêncio, orava. Abanava, de vez em quando, a cabeça, lancinado por uma pena imensa por aquele desperdício de vida.
Findo o jantar, o estômago apaziguado, começou a cabecear de sono. A fadiga invadia-lhe os ossos do corpo todo. Mas o P.e Serafim obrigou-o a aguardar pelo barbeiro, que veio resmungando que eram horas fora do serviço e só em atenção ao padre... Chico nem sequer teve consciência da tosquia dos cabelos e da barba. Quando uma sacudidela o despertou, já o fígaro tinha desandado. O padre ordenou-lhe que lavasse a cabeça, mas ele suplicou que deixasse a tarefa para o dia seguinte, antes de ir ao hospital. Recolheu-se por fim ao sótão, onde havia uma cama estreita e desconjuntada, mas sempre uma cama. Empestou o ar com o unguento, mas conseguiu dormir, sem receio de percevejos e dos bofetões da amásia, janela aberta, por onde entrava uma deliciosa brisa. Subitamente, A-Tai reduziu-se a uma lembrança má. Livrara-se dela para todo o sempre.
Estava internado no Hospital de S. Rafael, numa enfermaria para indigentes. O leito onde estirou o seu corpo foi para ele como uma dádiva da Providência. Havia lençóis, havia pijamas, horas de comer. O sol entrava à tardinha, iluminando uma sala sombria. As janelas projectavam-se para um pátio interior, com algumas árvores a enfeitar, mas que gemiam ao mínimo vento, sobretudo no silêncio da noite. Numa das celas do rés-do-chão havia um doido que cantava e uivava nas noites de luar, malhando o chão com os pés, como se fosse tambor. Chico não estava em condições de escolher e, portanto, dava-se por feliz.
Não obstou, contudo, a humilhações. Com o trambolhão que reduzira a nada a sua posição social, não tinha ilusões quanto a sinais de respeito ou de consideração. Não que fosse propositadamente maltratado. Era apenas um indigente, ao nível dos outros indigentes. No entanto, havia alguns que não olvidavam a sua opulência antiga e a forma insultante como desbaratara uma fortuna. Gostaria Chico de apagar-se a um canto, mas estes não consentiam. A todo o momento lhe recordavam o que fora, para melhor saborearem o castigo. Logo à entrada, ainda no banco do hospital, quando descalçara os sapatos cambados e pusera à vista as peúgas novas, já manchadas de sangue e pus, uma enfermeira virou a cara para o lado, a protestar:
- Qui fede!
Dali nasceu imediatamente a alcunha que se colou como um estigma à sua pessoa. De Francisco da Mota Frontaria, depois apenas Chico Frontaria, ou Chico, passou a ser Chico-Pé-Fêde, pois a «cidade cristã», que o tinha visto desaparecer por uns tempos, tomou conta daquele que ainda existia. A garotada começou a cantar este estribilho de maus versos:
Chico-Pé-Fêde Chico-Pé-Podre Nunca lava olodeco
Havia uma justificação. O odor era repelente. Os enfermeiros manifestavam relutância em o tratar, barafustavam com palavrões e não o poupavam, apodando-o de sifilítico ou leproso, conforme a cólera. O médico, apesar da boa vontade, ficava de cenho carregado sempre que o examinava.
Na enfermaria, mal se instalou, principiaram os protestos. O doente do lado esquerdo suplicou que mudasse de cama, porque as emanações do vizinho não lhe permitiam o sono e diminuíam-lhe a esperança dum rápido restabelecimento. Doutro lado, o doente que não reagira morreu mais depressa e logo a enfermaria atribuiu as culpas ao ar envenenado que ali se respirava.
Foi assim acolhido com hostilidade e nojo, sob uma saraivada de explicações, sem simpatia de ninguém, excepto do P.e Serafim, que vinha duas vezes por semana visitá-lo, trazendo-lhe laranjas e demorando-se em longos conselhos e exortações.
Chico suportava tudo com resignação. O hospital era a garantia duma guarida contra a malevolência do mundo. A sua angústia era voltar para a rua, ao deus-dará, sem pão nem emprego, caminhando de Ceca para Meca, escorraçado e errante.
Jazeu meses no hospital, submeteu-se a tratamentos dolorosos, preenchidos sem delicadeza. Que doença tinha? O médico não perdeu tempo em dizer-lho, porque, de qualquer modo, não perceberia. Os enfermeiros, caçoando entre chufas, retorquiam-lhe:
- Isto é sífilis de último grau. Ou então, mais brutalmente:
- É lepra... Chico-Pé-Fêde.
Não reagia contra a alcunha para não tornar mais difícil a sua situação. Aprendera que quem é muito pobre não pode ter personalidade. Não na admitem. Era um doente dócil, que desejava passar despercebido o mais possível, contente com a sua sorte, aspirando, no fundo, que a doença se prolongasse indefinidamente. Porque naquela enfermaria de indigentes tinha, ao menos, uma cama, um telhado para se abrigar.
Pouco a pouco foi-se restabelecendo. O cheiro dissipara-se e os outros doentes aproximaram-se para escutar as suas histórias, pois, acompanhando os progressos da cura, retornara-lhe a boa disposição e a loquacidade, a despeito das suas apreensões.
- Isto está melhor! - sentenciou o médico, um dia, para os enfermeiros.
Chico recebeu a novidade sem nenhuma demonstração de regozijo.
- Não estás contente?
- Es... estou.
- Dentro em pouco já podes ter alta.
Recomeçaram os terrores e um dia, sem tacto, declarou que gostava dali estar por mais tempo. Isto denunciou o que realmente acarinhava em pensamento. A resposta não tardou, áspera e final:
- Isto aqui não é nenhum asilo de caridade. Se não tens para onde ir, o problema é teu. A cama é necessária para outrem.
Quando recebeu alta, a enfermaria lamentou a sua partida. Soubera distrair doentes, conquistara amizades e alguns deles choraram. Na despedida ao médico, este disse-lhe que estava clinicamente curado e recomendou-lhe cuidado no comer e no asseio, e não andasse muito. Humildemente, replicou-lhe que, se tivesse casa e amparo da família, estava certo de poder cumprir as recomendações. Mas assim... sozinho...
- A casa do Sr. Timóteo Frontaria é muito grande. Ele é teu tio. Vai conversar com ele. Estou convencido de que te recebe.
O Tio Timóteo! Este fechara-lhe as portas, renegara-o para sempre, afirmando que nunca mais o procurasse, pois não era mais que um estranho. Nem que viesse de rastos, compungido e arrependido, lhe perdoaria todas as afrontas infligidas à memória e honra dos Frontarias. Para prova de que estava morto para ele, nunca o visitara no hospital nem lhe mandara uma lembrança ou esboçara o mínimo gesto de interesse. Singular que ele, Chico, se curvasse aos insultos e vexames dos outros, mas não pudesse suportar as catilinárias furibundas do tio e o seu desprezo. Os parentes são sempre carrascos e juizes severos uns dos outros. O que consentem e encaixam de estranhos não o permitem nem por lapso nem por deslize dos seus. O simples esquecimento dum convite dum conhecido é facilmente perdoado, dum parente é uma ofensa que não se apaga pela vida inteira. Não, com aquele tio e aquela tia antipática não podia contar.
Recorreu ao P.e Serafim, que lhe cedeu o sótão provisoriamente. O velho sacerdote, dobrado pela idade, era agora um homem combalido, impaciente e azedo. A saúde fugia-lhe. Ter o rapaz como uma eterna luz bulia-lhe com os nervos. Mas, sempre caritativo, bateu a várias portas para colocar o seu protegido.
Com a fama e poucas habilitações que tinha, obstáculos se eriçaram. Ninguém queria Chico-Pé-Fêde. À celebridade de boémio e de estouvado juntava-se a marca dum homem doente, impregnado de males secretos e vergonhosos. A imaginação popular, os boatos, o «disse-que-disse», tudo se opunha ao rapaz.
P.e Serafim, todavia, era um homem obstinado. No seu longo sacerdócio, Chico fora o seu maior falhanço. Este facto espicaçava-o a não se conformar com a realidade, porque aspirava à consolação de vê-lo, finalmente, no caminho duma vida sã e recta.
Havia algo no pupilo que o animava. Não parecia tão leviano como outrora. Vincos rasgavam o seu rosto, a atestar a gama de provações. Não se limitava já a ouvir as reprimendas e advertências, para esquecer-se delas num ápice. Fazia muitas perguntas sérias e mostrava uma vontade, ainda talvez confusa, de acertar.
Chico tivera muito tempo para meditar, nas intermináveis horas do hospital. Acusava-se de ser o único culpado da sua situação. Estava farto de humilhações. Julgara ter atingido o nadir da sua degenerescência, debatera-se no esterco durante largo período. Fora uma experiência dolorosa que não podia ser mais repetida. E a alcunha de Chico-Pé-Fêde, grudada à sua pessoa, era um ferrete ignominioso. Quando bateu, pela segunda vez, à porta do P.e Serafim, era um sinceramente contrito e humilde, sem mais apego às ilusões.
Conseguiu, finalmente, um emprego como guarda de armazém. Pouca diferença fazia da posição de porteiro. Tinha um quarto, porém. O alojamento não era ideal, de chão térreo, húmido, tosco de mobiliário e deficientes condições de higiene. Mas era um quarto. Aceitou para não continuar a ser um fardo pesado para o seu protector. Preferia ficar no sótão do padre, mas isto era pedir muito. Resolveu tirar o melhor partido do que tinha, levando à risca as tarefas que lhe incumbiam.
Os pés de Chico pediam descanso, alimentação adequada, um ambiente arejado e asseio. Como solicitar este privilégio a quem só com grande relutância anuíra em recebê-lo? Por dever de ofício, era obrigado a andar e a mover-se constantemente.
De repente, ruiu-lhe a desgraça, como se esta fosse a sua companheira fiel. O P.e Serafim morreu, subitamente, duma síncope. Foram achá-lo estatelado junto ao genuflexório da sua residência, já frio e inteiriçado. Devia ter falecido quando, recolhido no quarto, rezava.
Chico soube da triste nova ao cair da noite. Trespassado, estendeu-se na cama e chorou, como chorara com a morte da tia. Ninguém o surpreendeu no silêncio do armazém. Não foi ao enterro, para não se mostrar e porque a manifestação de dor só a ele interessava. Essa atitude foi mal interpretada, com comentários azedos, por aqueles que sabiam quanto o P.e Serafim se empenhara por ele. Que se podia esperar, senão a ingratidão, dum Chico-Pé-Fêde? Só que lhes foi indiferente registar que no dia seguinte ao do enterro o pupilo estivera na campa simples, a depositar um ramo de flores, a prantear como uma criança. Agora estava irremediavelmente só.
Como a desgraça nunca vem solitária, a doença regressou, anunciando-se com furibundas comichões. As pomadas receitadas no hospital pareceram, a princípio, controlar a sua evolução. O terror passou-lhe. Semanas depois desencadeou-se a fúria, para nunca mais o abandonar. Os furúnculos e as pústulas esparramaram-se pelos dedos, pelas juntas e palmas dos pés. As pomadas já não surtiam efeito.
Abalou para o hospital, apresentou-se ali envergonhado, pedinchão. Berraram com ele, que não tomara juízo e reincidira nos vícios, misturando-se com mulheres porcas, recaindo numa vida de cloaca. Não lhe valeram os protestos de que não contactara mulher alguma desde que tivera alta do hospital, nem as juras duma conduta só inclinada para o trabalho. Quem iria acreditar nele?
- Internar-te de novo? Tu o que pretendes é caminha e roupa lavada gratuitas. Fizeste até de propósito. Trabalhar não é contigo, mandrião relaxado. Que direito temos nós de aturar-te? Somos, porventura, obrigados a suportar este cheiro? Não. Vem ao tratamento se quiseres, mas internar-te, não! Há mais gente prestável que precisa de cama.
Não houve remédio senão submeter-se à consulta externa, onde se demorava. Não adregou lenitivo. Ao lado da impaciência dos enfermeiros, que não acreditavam nas suas justificações, havia a consciência da inutilidade do tratamento. Depois de sofrer, deveria sair em cadeirinha para não afectar os pés. Mas, se tinha de caminhar até ao armazém, qualquer possibilidade de melhoria esfumava-se.
Qualquer criança podia ver isso sem grandes tratos de inteligência. Desistiu.
Arvorou-se outra vez em médico de si mesmo, gastando potes de pomada. Os resultados foram negativos. É certo que agora podia coçar-se à vontade, sem correr o risco dos ralhos e tabefes da antiga amásia. Estava sozinho. Desesperado e desnorteado, perdeu o cuidado com a sua própria apresentação e o quarto transformou-se num antro fedorento. Nenhuma mulher o quereria, nem as mais safadas do Beco da Rosa. Aliás, não pensava nelas, obcecado com os pés e a comichão.
Que doença tinha? Era lepra ou atacava-o um vírus malévolo que a medicina desconhecia? Se era lepra, por que não se espalhava pelo corpo inteiro? Um horror! Reviveu os momentos trágicos do cubículo.
Perdeu o emprego, dum dia para o outro, sem apelo nem agravo. Isto seria inconcebível se existisse o manto de protecção do P.e Serafim. Como as pomadas da medicina ocidental não surtissem efeito, apelou para o velho unguento do «mestre-china». Como sempre, alcançou um alívio momentâneo e precário, mas não a cura. Colado a ele, seguindo-o por toda a parte, o fedor característico.
Um dia, não aguentando mais, tirou as sapatilhas para dominar uma excruciante comichão em ambos os pés. Tão habituado estava ao cheiro que já não dava por ele, como uma segunda natureza. Os empregados do armazém e os carregadores absorveram-no em pleno, um odor que revolvia o estômago. Gritaram, recuaram com medo, ao vislumbrarem as chagas. Uns escarravam, outros agoniavam e um, mais fraco, vomitou. A palavra terrível soou, como um uivo de alarme:
- É lepra!
Houve um esboço de greve, todos se recusaram a trabalhar se Chico ali permanecesse. Haveria contágio, o ar estava envenenado. O patrão do armazém, convocado pelo burburinho, aproximou-se do local. Quando descobriu Chico e os seus pés, pulou para trás, tropeçou, pálido como cera. Apelou para um copo de chá, bebeu uns goles, dominou o enjoo e, apontando para a porta, gritou:
- Rua... Nem mais um minuto aqui... Rua, porcalhão! Portanto, a punição não tivera ainda o seu termo. Não havia mais
o P.e Serafim, não havia mais ninguém. Nessa noite e noutras dormiu ao relento ou por baixo de alpendres de casas adormecidas. Era corrido quando o apanhavam. Encurralado pelo desespero, despiu-se do acanhamento e da timidez de pedinchar. A fome não permitia uma miséria envergonhada. Bateu a várias portas. Uns fecharam-lhas peremptoriamente na cara, olvidados de que ele já por elas entrara, risonho e imperante de riqueza. Outros atiravam-lhe as moedas, que rolavam pelo chão e que não resolviam o seu problema. Um, mais condoído, concedeu-lhe, a título precário, viver numa cabana, nos ermos do Bom Jesus, num terreno particular baldio. Comparou a sua situação com a de Pão Sok. Pouca diferença havia entre as duas cabanas. A mesma velhice carcomida, a mesma humidade, o mesmo primitivismo, sem o mínimo de condições sanitárias. Pão Sok ainda tinha companhia, ele estava rodeado de solidão.
As necessidades obrigavam-no a andar. Fazia recados, distribuía pela cidade circulares de óbitos e doutros acontecimentos, vendia carros de linha e mil coisas estapafúrdias, de porta em porta, que não lhe enchiam o estômago, mas ainda o mantinham vivo.
A fome, a dor, a comichão e o cheiro acompanhavam-no insidiosamente, fosse para onde fosse. Era motivo de escárnio, não só da garotada, como da gente adulta, que não lhe poupavam a alcunha. A sua figura grotesca e bamboleante, imunda, envolta em repelentes emanações, era uma nódoa na «cidade cristã», limpa, organizada e burguesa, e exigiam medidas de eliminação da sua presença nas ruas.
Nos princípios dessa andança final, os antigos camaradas, aqueles que tinham comido à tripa-forra dos seus rendimentos, cercavam-no e coagiam-no a contar as suas histórias. Ele narrava-as com mira na paga, em cobres. Fazia então de palhaço, já não para manter uma reputação, mas para angariar sustento. Quem mais se divertia em deprimi-lo era o Silvério, que não lhe perdoava a aventura com a Ermelinda. Por fim, porque os males cresciam, nem disso foi capaz. Escorraçaram-no definitivamente.
Resvalara para um estádio de degradação muito pior que nos tempos do beco, ao lado da bruta vendilhã ambulante. Macerado, doente, esfarrapado, ouvia muitas vezes o badalar dos sinos das igrejas. Na sua mente enevoada pelos padecimentos era como dobre de finados pelo antigo Francisco da Mota Frontaria, hoje apenas Chico-Pé-Fêde.
Chegara, portanto, ao limite naquela noite pavorosa de frio e vento ululando pelas esquinas. Um resto de canja, rapidamente gelado, ficara no fundo da tigela, porque já não lhe sabia bem. As mãos, sem luvas, estavam entorpecidas e os pés doíam-lhe com alfinetadas violentas. Um corrimento de ranho corria-lhe pelo nariz, molhando a boca e o queixo.
Acenou pelo garoto, que veio, de má vontade, cobrar as sapecas da canja. Continuou sentado para ganhar forças. Sabia da dor que o esperava quando se erguesse. Um mendigo, mão estendida, rogava ao garoto que o deixasse sorver o resto da canja, sendo repelido.
Chico, alheio a tudo, media a caminhada que iria encetar até o Bom Jesus, para o seu tugúrio apodrecido, onde encontraria o mesmo frio da rua. Para um homem são bastariam uns minutos. Mas para ele, com os pés naquele estado, nem uma hora.
Veio-lhe um terror desmedido. Estava no fim. Teria talvez força para andar, mas a provação seria demasiada. Convencera-se de que, uma vez deitado, não se levantaria mais, pois os pés não consentiriam mais nenhum passo. Com aquele frio e vento a rugirem, ninguém lhe acudiria no ermo.
O garoto ordenou-lhe que vagasse a mesa. Segurando na mão algumas sapecas que ainda sobejavam depois de pagar, aprontou-se para a punhalada da dor. Ergueu-se e gemeu. Apoiou-se nos bordos da mesa, para não cair, tudo girando à sua volta. Teve náuseas, mas não vomitou a canja. O mendigo, perto, lamuriava a sua ladainha chorosa, seguindo-o. Chico nem sequer o afugentou. Ia para a morte, sentia o sinistro sudário a envolvê-lo. Deu o primeiro passo... o segundo. Conseguia ainda mover-se. Soltou quase um uivo e arrastou-se. Arfava e soluçava gemidos a cada movimento.
Sempre tivera o pavor de morrer sozinho e abandonado. Mas agora, amarfanhado pelo inferno dos tormentos, era-lhe indiferente. Se tinha de apagar-se, que fosse misericordiosamente o mais depressa possível. Tudo preferível a essa dor constante, ao horror em que se tinham convertido os seus pés.
Tossia, o corrimento de ranho sempre a descer, viscoso, embebendo-lhe os lábios. Meteu-se por uma viela escura e foi um erro, pois a baça iluminação do candeeiro de petróleo público ainda ficava distante. Enfraquecido por todas as provações, não usou de cautelas, tropeçou e estatelou-se no chão gelado, espalhando as moedas. O urro que soltou repercutiu-se, sem chamar a atenção de ninguém. Não se moveu com o choque e só reagiu quando pressentiu o mendigo perto. Mas este não se acercara para lhe acudir, mas sim para espoliá-lo das moedas espalhadas. O frio era ali cortante como um fio de navalha. Chico encostou-se à parede para reunir forças. De repente, as moedas que o mendigo roubava, tacteando o chão negro, perderam importância. O pensamento que o alentava ainda era não jazer ali, acabando numa valeta da rua, como seu pai.
A tia, o P.e Serafim, o Chibo Manso, a Pulcritude e os Saturninos, a vendilhã ambulante e a A-Sao, a pobre e meiga A-Sao, dançaram-lhe diante dos olhos. E também outros que atingira com a sua estouvante insolência de rico. Isto era o castigo. Não fizera bem a ninguém, exercera apenas uma acção nefasta, não porque fosse naturalmente mau, mas por leviandade, extravagância e egoísmo. Duns extraíra o máximo dos proveitos, com outros rebaixara-os e degradara-os, por imperdoável irreflexão, sem consideração pelas consequências.
Fora toda a vida um brincalhão e, com arrogância, julgara-se um privilegiado da sorte, protegido pela impunidade. Criara-se no optimismo, sempre bem disposto e folgazão, e a vida desenrolara-se num quadro sucessivo de coisas finas, boa cama, comida farta, roupa lavada e dinheirinho no bolso. Não se preparara, com uma inconsequência palmar, para o futuro e as suas contingências. Agora, abismara-se até ao fundo da cloaca da miséria sem remédio, fedendo sob o opróbio duma doença misteriosa e asquerosa.
Era o castigo. «É neste mundo que os males se pagam», recordara-o uma vez o velho professor Silvestre, o mesmo que tentara em vão dar-lhe umas luzes de conhecimento.
Fora um homem social, gostava da companhia, da conversa pegada e de divertir as pessoas em alegre convívio. Agora debatia-se na mais atroz das solidões, réprobo, repelido por todos, a carne e a alma doridas pela ingratidão e crueldade dos homens. Justamente quando esboçara os primeiros arranques duma existência mais ajuizada, ruíam-lhe sobre os ombros as piores guinadas da vicissitude.
- É injusto. Os males pagam-se... Mas têm um ponto final. Só comigo... não.
Seria, de facto, injusto? Que esperava duma sociedade que cessara de acreditar nele, de simpatizar ou condescender com o seu procedimento? Não fora o verdadeiro culpado de tudo? Não desprezaria ele também, nos tempos de grandeza, qualquer vagabundo pestilento, que não tinha préstimo nenhum e enodoava uma ilustre família?
Pôs-se em pé, soluçando. Até um mendigo o apoucava descaradamente, metendo no bolso sem pudor aquilo que não lhe pertencia, certo da futilidade de qualquer reacção. O desespero misturava-se à raiva e à revolta contra a sociedade e contra si mesmo. Era mais uma silhueta fantasmal do que um ser humano. Abandonou o sítio, pregou um susto a um transeunte curvado, que cerrou os punhos, pronto para a agressão. Chico cruzou-se com ele, sem mesmo o ver. Perdera a noção das horas, sem avaliar se a noite se fizera recente ou já era velha.
Ia dobrar a esquina para a Rua do P.e António, quando uma rabanada de vento o atirou contra a parede. Sufocou novo gemido. No abrigo das sombras, perscrutou a rua dum lado e doutro. O vulto duma mulher aproximava-se, lutando com o vento, ao mesmo tempo que segurava embrulhos. Hesitou, mas logo decidiu que devia deixá-la passar, para que não fosse reconhecido.
Tinha boa vista Chico-Pé-Fêde. Identificou aquela mulher alta e trintona, de extrema magreza, apesar do vestido de saia larga, cuja bainha raspava a lama do chão. Era um fuso inclinado para a frente, caminhando lentamente, arrostando com a nortada e o frio, chapéu no alto do cocuruto, um grosso xaile à espanhola descaído para trás, que não a agasalhava, em virtude de ter as mãos ocupadas com os embrulhos.
Tratava-se da neta do Padilla «espanhol», sobrinha e filha das irmãs Padillas, as mais verrinosas línguas do burgo. Ninguém escapava à censura daquelas harpias, que eram temidas e odiadas. Mas aquela mulher tinha outra alcunha e fora dada por ele, Chico, em noite de assalto carnavalesco, havia alguns anos atrás, quando ela tivera a ousadia de lhe recusar uma dança. Fora uma aposta sem importância, mas a única que perdera. Não lhe perdoou por isso mesmo e, despeitado, ferrou-lhe com a alcunha, que repetiu depois no botequim de Tomé Zacarias. O nome inventado obteve grande sucesso e grudou-se à mulher, com o infame refrão:
Varapau-de-Osso
Varapau-de-Osso
Sem mama nem eu
Nunca se ralara com a extensão que esse cobarde apodo poderia afectar a então moça de vinte e tal anos, que, além da magreza, era estrábica dum olho. O certo é que nenhum noivo lhe aparecera e ela caminhava fatalmente para a prateleira das tias crónicas.
Oculto na sombra, viu-a deslizar, uma tábua andante, para a iluminação mortiça do candeeiro público, os óculos fumados, a cara magra e lívida de frio, numa atrapalhação ridícula com os embrulhos, o guarda-chuva fechado e o xaile quase a cair. Se não merecia mesmo a alcunha de Varapau-de-Osso!
Acumulou-se dentro dele uma cólera incontida, explosão pura do seu desespero e da certeza de estar perdido. Ferir, gozar, descontar em alguém o seu ódio e, depois, o adeus final. Se o mundo era mau para ele, por que não ser mau também, vingando-se também?
Quando ela já se achava sob o candeeiro público, gritou em falsete, com a voz que ficara célebre nos anais carnavalescos:
- Varapau-de-Osso... Varapau-de-Osso...
Notou, triunfante, que ela estremecera. Tropeçou, o andar incerto, como que abalada pelo choque. Mas continuou o seu passo, sem se voltar para trás.
A raiva de Chico cresceu. Tinha aversão às Padillas, que mais do que ninguém lhe criaram um clima desfavorável. Sem serem parentes dos Saturninos, tinham tomado a defesa deles, indo de porta em porta para denegri-lo, contando os vícios reais e lendários dos Frontarias, recordando velhas contas com a Títi Bita e outras histórias de vergonha. Ultimamente, quando o encontravam, escarravam no chão, com asco. Gritou outra vez:
- Varapau-de-Osso!
A mulher prosseguiu, sempre em frente, o corpo agora deitado, esguia como uma vassoura-de-coco. O desprezo a que o votara irritou-o mais. Gostaria dum desacato, em que já tinha afivelado um rosário de insultos, na ânsia de vexar e de se desforrar de todas as humilhações.
Riu a sua gargalhada galhofeira, que há muito não lhe vinha à boca, uma gargalhada falsa e trágica, que ecoou, ao comprido, na noite agreste.
Já percorria além do círculo de luz, quando a mulher escorregou, estampando-se com fragor no chão. As costas bateram nas pedras da calçada, num baque seco, as pernas finas de meias pretas no ar, as saias erguidas até às coxas magras.
Em pleno dia seria um cenário repleto de comicidade, os embrulhos espalhados, o xaile mergulhado num charco, um sapato preto voando e outro meio saído do calcanhar e o guarda-chuva dobrado em dois. Mas, na noite inclemente, a fustigar polvilhos de chuvisco, havia qualquer coisa de muito patético no corpo estatelado e inerme, como que morto.
Chico abafou um brado de susto. Desvaneceu-se-lhe o desejo de vingar e rebaixar aquela criatura indefesa. Algo como um remorso sacolejou-o todo e a demência dissipou-se. Saiu do escuro. Dores cruciaram-no, mas avançou. Havia que socorrer aquela mulher. Não queria ter mais um espectro, a juntar-se a tantos outros, na noite que acreditava ser a última da sua vida. O coração generoso de Francisco da Mota Frontaria sobrepôs-se ao ódio de Chico-Pé-Fêde.
Segunda parte Varapau-de-Osso
Despediu-se da empregada que sobraçava a caixa de papelão e fechou a porta do seu atelier de modista. Labutara o dia inteiro para a conclusão do traje de cigana para o baile carnavalesco e conseguira-o. A sua exigente freguesa poderia exibi-lo orgulhosamente nos braços do namorado.
Andara numa roda-viva, nessa semana, com as encomendas que choviam. O atelier aguentava-se, contra as previsões das tias e a crítica do burgo. Não tivera mãos a medir, com os vestidos compridos, com as fantasias para os «assaltos» e bailes do Entrudo nas três principais agremiações, o Clube de Macau, o Grémio Militar e o Clube dos Sargentos. Fizera o possível para o divertimento dos outros, só que ela, terminado o último vestido, sentia um vácuo em torno de si.
Há muito que desistira de ir a festas. Passara de idade, estava com trinta e dois para trinta e três anos e não guardava mais ilusões. Era uma solteirona, condenada a ser solteirona até o termo dos seus dias.
Abrira o atelier mais por distracção do que por necessidade. Era uma maneira de preencher as horas, escapar aos dias monótonos e sempre iguais e afugentar a solidão. Por isso levava embrulhos para se entreter com tarefas no longo serão que a aguardava em casa.
Ir a festas, participar nos folguedos carnavalescos que punham a cidade louca por uns dias? Não. Bastava já de humilhações. Conservar-se presa a uma cadeira a noite toda, enquanto em seu redor se divertiam, valsando, saltando e pulando com as momices da ocasião, era superior às suas forças. O pior de tudo era manter uma cara alegre, hipocritamente indiferente, falando com outras da mesma condição ou com mulheres casadas que a contemplavam com pena ou condescendência, como quem diz:
- Tem paciência... É rezar a Santo António, pedir o milagre e aguentar com resignação até este se realizar.
Na rua, o vento apanhou-a de surpresa. Não previra a brusca queda de temperatura e o frio queimou-lhe as faces e arrepiou-lhe o corpo todo. Ficou arrependida de ter dispensado a cadeirinha particular, dizendo que voltaria a pé, para dar um passeio. Era o que quase sempre fazia, não se importando com os comentários e a estranheza que suscitava andar desacompanhada depois do toque das trindades. Fora um erro com aquele frio e vento. Prendeu melhor o chapéu aos cabelos, aconchegou o xaile e, com os embrulhos e o guarda-chuva debaixo do braço, defrontou os elementos.
Mais um dia se concluíra sem novidade. Essa era a pior hora, pois regressava a uma casa vazia, que não tinha o sabor dum lar. Porque um lar entendia-o ela com marido e filhos, preocupações domésticas inerentes a qualquer agrupamento familiar. Tal privilégio estava interdito para ela. Nunca o gozaria. A juventude fora-se. Num meio em que as moças se casavam entre os dezassete e os vinte e um anos, que esperança podia acalentar uma mulher de trinta e dois anos, duma magreza que era um estigma e, demais a mais, estrábica dum olho? Se nenhum rapaz lhe pegara na idade própria, como dedilhar quimeras, quando já entrara, seca como um fuso, na idade serôdia? Fechada no seu orgulho e numa vida retirada, estava só no mundo, apenas com a «crioula» que a servia desde a meninice. Nunca conheceria um amor verdadeiro. Na alma instalara-se a desconfiança de que, se houvesse alguém a interessar-se por ela, seria agora pelo dinheiro. Não que fosse milionária, mas possuía o suficiente para uma existência confortável e bastante folgada. Era preferível, nestas circunstâncias, conservar-se solteira do que arriscar-se com um caçador de fortunas, que transformaria os seus dias numa cruz. Chamava-se Victorina Cidalisa Padilla Vidal, com uma irritante profusão de «is». Victorina Cidalisa! Se havia nomes mais execrandos! Nenhum apelido acrescentar-se-ia a Vidal, com trinta e dois anos, com aqueles malares que pareciam querer furar a pele, o olho vesgo e aquele corpo chato que os vestidos de saias abundantes não disfarçavam de todo.
Como saíra assim magra, não entendia! O pai fora um homem cheio, sem ser gordo, a mãe, franzina enquanto solteira, engordara depois de se casar. Apenas ela não mudara de compleição.
A chama de petróleo dos candeeiros públicos vacilava na sua protecção de vidro, havia polvilhos de chuva e as pedras da calçada tinham uma viscosidade escorregadia. A mulher solitária ergueu os embrulhos à altura do nariz para servirem de anteparo contra o vento. A rua, em frente, estava deserta, com raros transeuntes cosendo-se unto das paredes. Caminhando maquinalmente, pedaços do passado começaram a deslizar diante dos seus olhos.
Hipólito Vidal - tinha, claro, um nome mais comprido - era filho do próspero advogado provisionário da Cidade do Nome de Deus, Cristóvão Vidal, cujo casarão, à Rua Formosa, marcava entre os melhores do burgo. Toda a família, constituída pelo advogado, pela mulher, três filhas e dois filhos, com excepção de Hipólito, caracterizava-se pelo mais estulto dos orgulhos.
Nem a «nobreza» de S. Lourenço ou da Praia Grande competia no seu nariz alevantado, no trejeito da boca que não chegava a ser sorriso, no breve baixar da cabeça que significava a resposta a uma vénia.
A mãe e as três filhas eram simplesmente intoleráveis na selecção das amizades e na escolha dos convidados para os salões da casa. Quando saíam as quatro, enormes de carnes e gorduras, ocupavam com autoridade a rua toda, sem dar troco a ninguém, a não ser a meia dúzia de afortunados.
Para justificar a sua empáfia, iam buscar vagas ramificações com alguns nomes mais ilustres da heráldica de Portugal, ocultando ciosamente que entre os seus maiores havia cavadores de enxada escarvando a terra rija de sol a sol. Tirante Hipólito, eram todos soberbões, cheios de susceptibilidades, proclamando o seu «sangue azul» de última hora, enquanto a arraia-miúda troçava de que nas suas veias o que corria era «água azulada pela tinta dos tinteiros dos tribunais».
De bem com Deus e com o Rei, «tu cá, tu lá» com os governadores, Cristóvão Vidal era uma figura destacada no meio social e político de Macau e um pilar de moralidade e de costumes austeros. Disto ninguém podia ter a menor dúvida.
Hipólito Vidal, quarto no número de filiação e o mais velho dos varões, fora de pequenino destinado a bacharel em Leis, a estudar na Universidade de Coimbra. Educado pelos padres do profícuo Colégio do Seminário de S. José, cedo se revelou amigo das letras e uma inclinação natural para as línguas. Fazia redacções límpidas e elegantes, lia e interpretava Cornélio Nepos e Cícero com a familiaridade de íntimos. Tinha as melhores classificações e conhecia, além dos nacionais, todos os reis da França e da Inglaterra. Perante tanta sapiência, os colegas tratavam-no com respeito e os mestres com a devida consideração.
Era um bom colega. Afável e generoso, não prescindia de ajudar os camaradas em apuros. Ao contrário do irmão, pedante e mais novo, era popular, duma timidez quase feminina, e, por ser um aluno excepcional, os companheiros evitavam, diante dele, conversas escabrosas que embaraçassem a sua pudicícia, como se se tratasse dum indivíduo à parte. Durante o tempo escolar nunca o viram levantar a voz contra ninguém, nem meter-se em conflitos ou zangas próprias da idade. Vivera e crescera numa redoma, casto e sisudo, obedecendo aos ditames da família. Era apontado como exemplo dum bom e esperançoso rapaz por todos os pais e encarregados de educação.
Lia muito, debruçando-se sobre túrgidos calhamaços românticos de Perez Escrich, Ponson du Terrail, Xavier de Montépin e Emille Richebourg. Sonhava também romanticamente. Idealizava uma mulher etérea, meiga, devotada ao amor, capaz de todos os sacrifícios, um protótipo de pureza e pudor. Escrevia versos dum lirismo exaltante, que não lia para ninguém, reservando-os somente para soarem nos ouvidos da futura bem-amada. Encerrado no quarto, vivia o seu mundo, onde a bondade, o heroísmo, os sentimentos elevados, esmagavam a maldade, a corrupção e todos os vícios. Não tinha nesse mundo os pés assentes na realidade, mas Hipólito sentia-se feliz nele.
Defendia a castidade como uma das virtudes mais purificadoras do homem. Para os colegas e amigos, ele era um cordeiro inocente, delicado, de maneiras finas, corando ou mostrando-se desconfortável quando perto rompiam palavras grosseiras ou ejaculatórias escabrosas.
Não era de natureza saudável enquanto adolescente. Adoecia com facilidade, era atreito a constipações e gripes. «Era fraquito», dizia a mãe com um suspiro. Não praticava ginástica nem qualquer actividade desportiva. Nem nunca pescara! Só os livros e as poesias eram a sua dilecta distracção. E o violino, que tocava afinadinho, sem ser um «virtuoso», com a irmã mais velha ao piano, nos graves serões da casa.
Já no último estádio de preparação nos estudos e quando era dado como certo o menino ir para Portugal - coisa rara ao tempo -, Hipólito adoeceu. Era uma anemia crónica, afirmava-se caminho rápido para a tísica romântica. Mostrava um definhamento crescente, a cor do rosto transparente, de tons esverdeados, os olhos arrancados, no fundo das órbitas. O seu estado de saúde dava-lhe a ideia dum herói camiliano, desfalecido e exangue, só que não tinha um amor fatal e contrariado, à Simão Botelho, para carregar o cenário. Ficava horas a cismar, em suspiros ou em silêncio mortal, num desprendimento total pela vida que decorria em volta, como se nada o arrancasse da abulia e do ensimesmamento.
Os pais, inquietos, consultaram médicos em Macau e Hong-Kong, foram interná-lo em Cantão, no famoso hospital alemão. O diagnóstico não foi fúnebre. Tinha um pulmão fraquito, mas nada de irremediável. Com descanso, boa alimentação, repouso absoluto e disciplina nas horas de comer e de dormir recuperaria. Estudos, paciência, ficariam para quando estivesse escorreito e curado. Agora era preciso avermelhar as faces, aumentar de peso e encher-se de mais carnes e músculos.
Por uma questão de economia, voltou para Macau e, de acordo com os clínicos locais, passou a ocupar um quarto no Hospital de S. Rafael. Tudo começou a correr da melhor maneira para o doente obediente, cujo único vício era a leitura. E certamente tudo se desenrolaria a contento dos desejos dos pais e do resto da família se o acaso não jogasse uma partida de consequências tremendas para ele.
No quarto vizinho instalou-se, uma manhã, Pablo Padilla - Padilla com dois «ll», não se esqueçam -, de origem espanhola, da colónia das Filipinas, homem casado e com três filhas. Duas delas eram detestavelmente feias, com um físico de trinca-espinhas, sem préstimo algum. A terceira, porém, a mais nova, a «bonita» da casa, possuía uma carinha adorável, boca vermelha e andar bamboleante e lânguido, com um trejeito nos lábios que fez estremecer o sisudo e casto estudante quando a viu pela primeira vez.
Padilla era um homem violento, vozeirão tonitroante e intimidativo, que assustou a sensibilidade do jovem doente, seu vizinho. Logo no primeiro dia, quando o apanhou só, invadiu-lhe o quarto e apresentou toda a família. Não guardou cerimónia, assentando-se na cadeira com a fraternidade dum parente mais velho, como se há muito se conhecessem.
Quando os pais de Hipólito souberam quem era o vizinho, opuseram-se a quaisquer relações. Era uma gente conflituosa e ordinária, os Padillas, linguareira e má, espalhando a verrina pelos cantos, enxovalhando reputações. Ocasião houvera que tivera de prestar contas à justiça, pelas calúnias e difamações que inventara. Preveniram o débil rapaz de que cortasse resvés quaisquer ligações com tal súcia.
Mas dizer era fácil, cumprir era supinamente mais difícil, demais com a natureza delicada e tímida de Hipólito. Pablo Padilla escolhia o sossego da noite, quando já não havia mais visitas, para se introduzir no quarto, estendendo-se na cadeira, cigarro negro filipino ao canto da boca, fumando desalmadamente e troçando do médico, que o proibia. Depois, porque crescera num compartimento estanque, sem contacto com criaturas daquela espécie, estas exerciam o fascínio da novidade.
Não tardavam cinco minutos que não se pusesse a maldizer as pessoas. Jorrava catadupas de fel, como se alimentasse um insanável ressentimento contra tudo e todos. Tinha, por assim dizer, o prazer da destruição. Hipólito não objectava, porque o visitante dominava-o desde a entrada até a saída, quando o enfermeiro aparecia a chamar a atenção de que o doente mais moço precisava de repouso.
Pablo Padilla impunha-se pela sua corpulência, cheia de vitalidade. Não sabia que doença realmente tinha, apenas uma referência breve sobre o fígado. Não acreditava nos médicos da medicina ocidental, que desprezava. Viera desta vez rendido por causa das dores que as tisanas e os preparados dos curandeiros e ervanários não conseguiam diminuir. Enquanto estes não descobrissem o remédio milagroso, ficava-se com os médicos do hospital até ver. Afirmava estas coisas incríveis com tanta peremptoriedade que Hipólito se calava, quase convencido.
De qualquer maneira, prendia-o. Tinha histórias de aventuras, de lances dramáticos, apresentando uma vida tão cheia de peripécias imprevistas e estranhas que esmagavam o rapaz, que até então vivera dentro duma campanula, limitando-se ao ramerrão da casa, sempre uniforme e sem variante alguma. Padilla não tinha papas na língua. A sua prosa folclórica e desbocada, com inflexões castelhanas, punha um palavrão de dez em dez palavras. Nunca os puros tímpanos de Hipólito foram tão maltratados, aprendendo em pouco tempo um acervo de sórdidas expressões.
O que o compensava eram as visitas furtivas da Cesaltina, a menina bonita dos Padillas, que lhe trazia flores, rebuçados e pequenas guloseimas da casa, embrulhadinhos em papel fino, de cores variadas. A rapariga demorava-se mais quando trazia o ramalhete de flores. Alongava-se a compô-las num jarro, dando uma nota alegre no quarto sombrio do hospital. Enquanto gastava o seu tempo nestas niquinhas, ia bamboleando as ancas, numa provocação, embora no resto da aparência pretendesse ser inocente. Nesta contradição, ia infiltrando a sedução nas veias no jovem ingénuo, que não conhecera até ali outro qualquer termo de comparação.
Os cinco minutos máximos em que ela se demorava eram o suficiente para Hipólito ficar perturbado pelo resto do dia. Era mais que evidente que, para gozá-los, não ia indispor-se com o pai, proibindo a sua invasão no quarto ou desencorajando-o dali aparecer. Quando lhe perguntavam da proveniência das flores e dos rebuçados, replicava que eram a oferta graciosa dalgumas enfermeiras, deliciando-se com a mentira.
Nas longas horas do hospital podia saber o que se passava no quarto do lado. Padilla, quando se irritava, expunha toda a violência do seu carácter. Enchia de bofetadas as bochechas da mulher e dava a sua paulada nas filhas, poupando apenas a menina bonita. E não se detinha nos palavrões, que ecoavam através da parede. Hipólito tremia, então, como se fosse ele próprio a sofrer directamente a cólera do «espanhol».
- No país de meus pais é com o punhal que se resolvem os problemas, hombre! Qual conversa, nem meia conversa... É perda de tempo! Uma palavra menos delicada e são logo tripas ao sol, hombre! É à facada! Aqui, em Macau, temos que ficar em bofetões e chicotadas. Mas não se metam com Pablo Padilla! É à facada, hombre!
Um dia apresentou-se com uma catana de tamanho regular, cabo castanho, a lâmina, de tom cinzento, a brilhar muito aguda e sinistra. Exibiu a terrível arma com a destreza dum perito. Com um golpe rápido, cortou uma laranja mesmo ao meio, sem falhar, voando as duas metades para o chão. Continuou no seu exibicionismo, brandindo outros golpes no ar, como se lutasse com inimigos imaginários. O peito de Hipólito arfou de alarme e implorou que deixasse de brincar, para evitar danos inesperados. Padilla riu-se e o farto bigode dançou com as gargalhadas, no alto da sua beiçola sensual.
- Hombre! Você tem sangue de donzela.
Desde então, Padilla meteu-lhe um medo instintivo, um respeito incompreensível, quase servil. Se temeu o pai, rendeu o coração à filha, a bonita Cesaltina Padilla. Apesar de proclamar a castidade, começou a sonhar com a boquinha vermelha da rapariga e a curva dos seios redondos, como pombos arrulhadores que queriam saltar do corpete. Sem conhecer o verdadeiro carácter dela, arrastado por leituras românticas, apaixonou-se doidamente pela esbelta criaturinha.
Os pais Vidais vieram a descobrir as visitas de Pablo Padilla e da filha. Estarreceram com aquela intromissão e preveniram o moço incauto. O «espanhol» tinha fama de ser um homem sem escrúpulos nem moral, a mulher e as filhas umas coscuvilheiras de alto coturno. Viera com o pai, aos dez anos, para Macau; o pai, um homem misterioso, envolvido com revolucionários que aspiravam à independência das Filipinas. O pai desaparecera uns anos depois, regressando clandestinamente à terra natal. Pablo Padilla ficara e ganhara dinheiro sujo, como corretor da emigração chinesa. Emprestava a juros elevados e, metido com ervanários e curandeiros, era quem tratava a rapaziada boémia das doenças vergonhosas. Um porcalhão, um desavergonhado! Que doenças vergonhosas? perguntou Hipólito, baixinho. O pai Vidal respondeu, com asco na boca, que eram males de que o angélico rebento nunca ouvira falar. Tratava-se, portanto, de relações perigosas para a pureza do filho.
Houve uma tarde em que os Vidais ficaram frente a frente com Padilla. Este não podia aparecer em pior altura, cortando um sermão em que justamente aconselhavam, com severidade, o convalescente a fugir ao contacto com o perigoso vizinho. Receberam-no com frieza arrogante. Os Vidais consideravam-no dum estrato social inferior e colocavam-no à distância e no lugar que lhe era próprio. Hipólito confrangeu-se de embaraço, sem saber remediar a situação. Mas Padilla tinha a pela grossa. Não se desconcertou, deixou-se estar, de propósito, retumbando no quarto o seu vozeirão, acompanhado de maneiras grosseiras, nada afectado com o gélido acolhimento.
Ao sair, já no corredor, em direcção ao seu quarto, descaiu a máscara. Estava furibundo. Rilhou os dentes e murmurou:
- Uns sacanas! Mas esperem pela pancada. Desancou na mulher e na filha mais velha, com um bofetão a cada uma, mas não explodiu numa cena mais grave. Teve o comedimento necessário para se conter é guardou o seu rancor, ao mesmo tempo que engendrava o seu plano.
Os Vidais empenharam-se, numa febre nervosa, para tirarem o filho do hospital. Felizmente, as melhoras eram muito sensíveis e em casa podia, sem inconveniente, prosseguir no mesmo tratamento. E puseram-se a vigiá-lo até que tivesse alta.
Por mais vigilância, porém, que houvesse, os jovens sempre descobriram maneira de conversarem. Cesaltina Padilla, com lágrimas nos olhos, perguntou se, na verdade, ele se ia embora do hospital. Falava exclusivamente wtoiy, enquanto ele respondia em português. Hipólito, comovido, com um nó na garganta, limitou-se a menear a cabeça que sim.
- Então nunca mais nos vemos? - inquiriu ela, rebolando-se, numa voz dilacerada de queixume.
- Nunca deixarei de vê-la a você.
- Jura?
- Juro.
Prometeu e tresjurou. Ela estendeu-lhe as mãos, praticamente oferecendo-lhe o rosto e os lábios. Ele não se moveu, por timidez, e não foi capaz dum atrevimento, embora estivesse doido por cometê-lo. Ela suspirou, ligeiramente desiludida, e partiu. Hipólito ficou para trás, esmurrando as almofadas. Não possuía experiência alguma nessas lides.
Padilla não era tolo nenhum. Adivinhou o interesse do rapaz pela filha, cofiou o bigode farto, meditou nos créditos dos Vidais e acalentou a forte ambição de a filha ingressar naquela família. Subiria de categoria social, e os Padillas todos também, por reflexo. Hipólito era um bom partido, fosse tímido e medricas ou não. Tratou logo de convencer a filha a encarar a sério a inclinação do rapaz, no que era secundado pela mulher e as outras duas filhas, que já se viam a penetrar no fojo dos Vidais, na Rua Formosa, e a misturar-se com as pessoas do meio.
Os pais de Hipólito respiraram quando o filho regressou a casa. O que não podiam suspeitar, por lapso imperdoável, é que Hipólito remeteu logo uma carta para Cesaltina, no próprio dia do regresso, por meio do sai kó da casa, que passou a servir de portador.
Entre as duas residências trocaram-se bilhetinhos e missivas, ele enchendo-os de fraseado lírico, ela em mau português, mas eloquente no sentido e nas intenções. Padilla, ainda no hospital, mas já preparado para sair, depois que bebera um chazinho de curandeiro, vindo à socapa da «terra-china», que lhe curara completamente as dores - pelo menos, era o que ele dizia depois, à boca cheia -, comandava as operações. Cesaltina, quando recolheu a primeira carta, quis guardá-la para si. Mas Amparo, a irmã mais velha, denunciou-a ao pai. Este, com uma estalada veemente e rara, dissipou-lhe as hesitações e ela, obediente, entregou-lhe a missiva.
- Escreve bem o menino! Mas muito açucarado... muito rebuçadinho.
E riu-se, lendo alto para a família, interpondo chocarrices ordinárias, com grande hilaridade da mulher e das duas filhas mais velhas, enquanto Cesaltina corava, com lágrimas nos olhos.
Daí em diante, Padilla passou a ler toda a correspondência. Quando devorou os versos, desfez-se em patadas de riso. Era ele quem ditava as respostas que Cesaltina era obrigada a responder, na sua letra redonda de instrução primária, às vezes com as bochechas a arder, da violência paternal. Se Hipólito fosse menos ingénuo e o animasse um bocado de mais perspicácia, duvidaria imediatamente de que as palavras fossem dela. Cesaltina tinha poucos estudos, não abria um livro, era oca quanto às coisas do espírito. Os versos exaltados e mirabolantes do rapaz, em que a métrica assentava depois de imensa tortura, deixavam-na impaciente e irritada, por não perceber e por toda aquela preciosa perda de tempo. Como, então, ser a autora de pensamentos amadurecidos?
Mas Hipólito delirava com as respostas. Aguardava com ansiedade a vinda do sai kó e arrancava-lhe da mão o papel, como o sequioso que puxa para si o púcaro da água da fonte. Lia e relia muitas vezes, beijando o envelope, sonhando com aquele puro e único amor. Gostaria que ela fosse mais expansiva, mas desculpava-a. Era o pudor, a virgindade imaculada, que a impedia de abrir-se mais. Embora não se parecesse nada com nenhuma das donzelas imaginadas das leituras românticas, forçava a imaginação a ombreá-la com elas. Para evitar qualquer recaída, os pais Vidais nem sequer permitiam longas leituras. Não queriam fatigar o rapaz. Cerceado do seu passatempo favorito, Hipólito jazia horas a fio a meditar, a tecer quimeras, cada vez mais acendradas, numa impaciência crescente de rever a donzela amada. Nunca, vez alguma, descera à realidade nua e crua.
Sabia que teria de se defrontar com a oposição dos pais. Tinha a certeza, porém, de que eles, quando a conhecessem melhor, far-lhe-iam justiça. Padilla podia ser um desconforto e um inconveniente, mas ele casava-se com a filha, e não com o homem brutal. Afastando-a do meio grosseiro, podia fazer da Cesaltina uma mulher de sociedade que não envergonharia ninguém, nem deslustraria os Vidais.
Insuflado por tais ideias, cego por todo o resto, e por já não ter ouvido para vozes da sensatez, esforçou-se para se curar o mais depressa possível. Tornou-se um convalescente de que todos os médicos gostariam que fosse. Cumpria à risca o tratamento, tomava os medicamentos, dormia a horas certas, animado pela grande vontade de se restabelecer. O certo é que surtiu efeito. Hipólito ganhou forças, cores no rosto e engordou. Recebeu licença para sair do quarto e passear no quintal da casa. Ardia de impaciência.
Houve um dia em que acompanhou os pais e os irmãos para a missa na Sé. Eles iam, em acção de graças, reiterar os agradecimentos pelo milagre do restabelecimento. O único distraído era, no entanto, Hipólito. Previamente tinha noticiado à Cesaltina que iria à missa. Ela respondera que iria também à igreja só para o ver. E, de facto, surgiu com a família inteira.
Vidais e Padillas instalaram-se cada um na sua nave. O «espanhol» não fez menção de se aproximar a reencetar a amizade iniciada no hospital. Decidira tal procedimento de ânimo pensado. Não queria precipitar as coisas e afugentar a presa. Deixou à vontade que a filha e o genro em perspectiva trocassem olhares furtivos e dengosos. E arquitectou melhor o seu plano.
- Os sacanas! Eu lhes cantarei o fandango, hombre!
Já escorreito, foi autorizado a Hipólito fazer passeios pela cidade, principalmente pelos lugares verdes e mais sossegados. O moço começou a enveredar os seus trajectos, aparentemente inocentes, para os lados da casa dos Padillas, uma construção isolada, no meio de baldios, hortas e jardins, não muito longe do Cemitério de S. Miguel Arcanjo. Quando por lá passava, Cesaltina espreitava-o, mostrava-se rapidamente com ar pudico, mão na boca para ocultar o sorriso de enleio que a enternecia. Sem ele desconfiar, lá estavam a mãe e as irmãs, por detrás das persianas doutras janelas, a cocar.
Um dia, Cesaltina, no bilhete trazido pelo sai kó, convidava-o para um chá. Obtivera o consentimento dos pais e estava ansiosa para conversar com ele. Tinha saudades da sua presença e achava injusto que só o pudesse contemplar à distância. Hipólito sentiu um calor no coração e nas entranhas. Vestiu-se melhor do que sempre e ninguém estranhou, nem quando se pôs a cantarolar, polindo os sapatos. O contentamento de vê-lo curado ofuscava qualquer suspeita.
Foi. Quando tocou a campainha dos Padillas, a mão tremia-lhe. Havia até uma vaga vontade de chorar. Acolhê-lo-iam a família e Cesaltina, coradinha, num vestido branco, como o duma noiva, que lhe ficava mesmo a matar. Mais tarde haveria de meditar muito sobre a impressão que tivera num brevíssimo instante. Cesaltina parecia uma ovelhinha inocente no meio de lobos esfomeados.
A presença dominadora e absorvente de Pablo Padilla enleou-o durante algum tempo. Sufocou-o com abraços e palmadas que faziam doer-lhe a ossatura frágil. As duas filhas mais velhas, a Amparo e a Carmencita, soltavam guinchos, enquanto a mulher, duma amabilidade viscosa, alargava-se em espasmos nervosos quando se ria.
O chá foi muito bem servido. Não faltaram exemplos da melhor doçaria macaense, todos confeccionados por aquele conjunto de mulheres que o miravam como a um futuro parente.
Hipólito, educadíssimo e cerimonioso, a princípio, acabou por se integrar no ambiente. Desabotoou o casaco, depois tirou-o, comeu, fez as honras da casa e, de repente, encontrou-se sozinho com Cesaltina.
Foi a parte mais feliz da tarde. Durante quarenta minutos ninguém os interrompeu. Juntos no sofá, ela sentou-se perto dele, as saias cobrindo-lhe as pernas, mas permitindo que admirasse os seus pezitos delicados, em metade dos sapatinhos brancos. Podia sentir a carne virgínea e, de cada vez que se inclinava para ele, recebia em cheio a bafo saudável e quente da Cesaltina. Ficou imensamente perturbado, enrijecido pela timidez. Mas, por fim, porque a mão dela pendia sobre o regaço como uma oferta tentadora, a unha do indicador quase lhe tocando na coxa, não controlou um súbito impulso. Segurou a mão, apertou-a, afagou-a.
- Cesaltina... l - Hipólito...
Bichanaram coisas e loisas que são sempre um ridículo para ouvidos frios e estranhos, mas eternas delícias para os corações enamorados. As cabeças estavam debruçadas uma para a outra, num enlevo que os separava do resto do mundo. Oh, como pode existir tanta felicidade, proclamava o pulsar do moço apaixonado. Tentou ler uns versos que trazia. Ela, impaciente, guardou o papel na’manga do vestido, o rosto mais perto dele. Excitara-se, convidando a enlear-se menos com lirismo e escrúpulos. Os seus olhos queimavam, soltando chispas. E ele não resistiu. Colou-se a ela, num primeiro beijo de amor, muito casto, aflorando os lábios. Depois, relanceando um olhar prudente em volta, repetiu, porque o sangue assim impunha, num beijo eloquente e cálido. Daí a pouco, as línguas enroscavam-se, experimentando um novo sabor.
Pablo Padilla, jogando cinicamente o seu jogo, observava tudo numa fresta da porta. De vez em quando virava-se para a mulher e as outras filhas, com os punhos cerrados, para não fazerem barulho, espantando o peixe. Assistia a todas as peripécias, cofiando o bigode, aprovando a filha.
Concedeu mais alguns minutos e achou que era tempo para comparecer. Pusera os nervos do jovem em ebulição e não mais esqueceria a experiência, com o afogueado das faces, as orelhas duma expressiva vermelhidão.
- Está na rede... Já tenho genro, hombre!
Fez de propósito um ruído e entrou, com jovialidade selvagem e vozeirão tonitroante, seguido pelas cúmplices. O par, no sofá, tivera tempo para se compor e de se distanciarem, olhos postos pudicamente no chão.
Hipólito, ao reparar no adiantado da hora, assustou-se. Ultrapassara os limites do razoável. Abusara e os pais, lá em casa, deviam estar alarmados com a insólita demora. Ergueu-se para se despedir. Cesaltina lamentou-se num doce amuo.
Em casa apercebeu-se da inquietação que causara. O pai, severo, perguntou-lhe onde estivera, a mãe, atrás, com o frasquinho de sais. Hipólito replicou, com naturalidade fingida, que percorrera, num longo passeio, a Mata da Guia, onde encontrara antigos colegas. Conversa puxa conversa, e as horas tinham voado, naquela reunião de amigos que não se viam há muito tempo. Os pais engoliram a história e ele pasmou de que pudesse mentir com tanta seriedade e convicção. Só a mãe teve a última repreensão:
- A Mata da Guia, ao cair da noite, é muito húmida. Convém não abusar.
- Os ares são bons enquanto o Sol não se põe. Tem cautela, por outra vez - acrescentou o pai, franzindo a testa.
- Não se preocupe.
Tornou-se mais afoito, começou a sair todos os dias, tomando o caminho para a casa dos Padillas. Às vezes entrava, a maior parte das vezes ficava à porta. Pablo começou, porém, a impacientar-se. Tinha pressa de concretizar o casamento e apenas aguardava que o rapaz fizesse vinte e um anos. Conhecia-lhe o respeito que tinha pela vontade dos pais e tremia que o genro em perspectiva desviasse as atenções para outra, pois, filho dum próspero advogado provisionário, não faltariam donzelas a contento daqueles, resultando em prejuízo para a filha e também para si, que ambicionava gozar o seu quinhão da respeitabilidade dos Vidais.
Hipólito teve a sua festa, com muitos convidados e amigos da casa, a Rua Formosa reluzente de mil candelabros. Reinou a alegria nos salões, mas não no coração do aniversariante, pois os convites tinham sido ditados pelos pais, e não por ele. Pablo Padilla rilhou a desfeita, mas insistiu em não estragar o seu plano. Cesaltina queixou-se num bilhete, muito amuada, de que fora relegada para um plano secundário. Afinal, era ou não era a namorada dele?
Era o momento de tomar uma decisão. Prometera à rapariga amá-la toda a vida, dera a sua palavra. Mas falar aos pais era um obstáculo intransponível. Nunca os contrariara, fora um filho que acatara a vontade deles como se fosse uma ordem. Sabia quão inflexível era Cristóvão Vidal, draconiano no conceito que tinha dos homens. Uma vez riscados da sua consideração, eram-no para sempre. Não quebrava nem contemporizava. O mesmo carácter denunciavam-no os irmãos. A mãe, menos dura, tinha, porém, uma interpretação muito especial sobre o significado da honra. Ora, os Padillas eram por eles, em conjunto, classificados de gente mais baixa, da ralé de Macau.
Guiado por uma batuta uniforme, as hesitações de Hipólito eram lancinantes e transferia para amanhã o que devia ser dito hoje. Cobarde, metido numa camisa-de-onze-varas, não sabia conduzir-se airosamente no transe em que se encontrava.
Através do clássico bilhetinho, apareceu um novo convite. Foi. Adivinhava que, depois do aniversário, muitas perguntas lhe haviam de ser formuladas e receava a violência do «espanhol». Certamente, estava com as melhores intenções. Não havia dúvida de que queria ligar o seu destino ao da Cesaltina. Como explicar ao Padilla que também tinha medo dos seus próprios pais?
Achou, porém, a casa vazia, a sós com Cesaltina. Ela rompeu numa confissão eterna, com a sua vozinha inocente. A família tinha ido toda para um «chá-gordo» e não estaria de regresso senão às nove horas. Tinham, portanto, muitas horas adiante para viverem na ilusão de possuírem um lar.
Sentados no sofá, ela começou por fazer beicinho, queixando-se de que se esquecera do seu amor na grande festa. Quando pretendeu abraçá-la, ela esquivou-se, o beiço choroso, na lamúria de não ser convidada. A cintura fina, o cheiro do sabonete, o dengue do seu pescoço, os pezinhos calçados que espreitavam nervosos na fímbria das saias, excitaram-no tremendamente. Ela teimou no amuo, dizendo que nem tivera ocasião para lhe oferecer um presente condigno. Ele escorregou a seus pés e beijou-lhe o regaço, jurando o seu indefectível amor. Ela foi cedendo aos poucos, à medida que a excitação a ia invadindo. Por fim, já se abraçavam e se beijavam.
Ela serviu-lhe chá, pastéis e bolos. A intimidade aumentou, entre mimos e ternuras. O silêncio da casa era cúmplice, a voz e a meiguice dela envolventes. Voltou à carga. Estaria ele a enganá-la? Por que os pais dele a desprezavam? Se não se davam com os progenitores, não estava justo que a aversão se estendesse para ela, que não lhes fizera mal algum.
Tinha razão. Ele era um estafermo por causa da sua indecisão. Jurou, de novo, que ia pôr as coisas no seu devido lugar. A festa fora uma surpresa, os convites feitos sem a sua intervenção, nem mesmo os colegas da escola tinham sido considerados. Cesaltina, aparentemente, deixou-se convencer.
- Agora já não tem importância. Você está cá... e eu estou tão contente - ciciou a rapariga, os olhos chispando, muito cálidos.
Foram de intimidade em intimidade. Ele já tinha tirado o casaco e a gravata, arregaçara as mangas da camisa, desabotoando alguns botões. Ele já não compreendia se o calor que o entontecia era da casa, mergulhada na obscuridade de persianas cerradas, ou do seu próprio sangue. Era de mais.
Ela, às gargalhadinhas, começou com cócegas e ele tentou segurá-la. Fugiu-lhe das mãos e ele perseguiu-a. Foram correndo, um atrás do outro, por entre as mobílias, aos gritinhos e aos saltos, ela muito mais ágil que ele. Por fim, Cesaltina subia as escadas e estavam no primeiro andar, as mesmas gargalhadinhas e exclamações que o incitavam. Ela refugiou-se no quarto que partilhava com as irmãs, tentando fechar a porta. Mas ele forçou-a aos empurrões e, num mergulho, agarrou o pé da Cesaltina, na altura em que ela procurava transpor a sua própria cama. Puxou-a para si e ficou por cima dela, enquanto se esfalfava para dominá-la.
De repente, o riso morreu, perante a realidade de dois corpos colados um ao outro, rosto contra rosto, os lábios mesmo à justa para um longo beijo. Então, ambos se descontrolaram. As roupas, pouco a pouco, voaram, os braços num amplexo atenazador.
- Amo-te, Cesaltina.
- Sou de você.
Era um convite mergulhante, uma vertigem embriagadora. Daí para diante, nenhuma voz da razão podia detê-los, as barreiras de qualquer resistência totalmente removidas. Ela admirou-lhe a virilidade triunfante, ele os pombos arrulhadores dos seios erectos, a pedir carinhos, a mancha negra do ventre a tremer, numa oferta palpitante. Amaram-se, esquecidos das misérias do mundo, por entre os lençóis de alvura virginal.
- Ah, isto é tão bom... - disse ela, apesar da dor.
E fora. Ficaram depois, numa doce e sonolenta saciedade, muito aconchegados e abraçadinhos, ela dormitando-lhe no peito, os cabelos desalinhados. Hipólito saboreou a plenitude da felicidade.
Nisto, um estrondo enorme se ouviu, a porta do quarto quase arrancada. Pablo Padilla entrava, brandindo a catana, a mulher e as outras filhas atrás, aos gritos. Hipólito e Cesaltina quedaram-se terrificados, sobretudo o rapaz, sem fala, com todas as provas evidentes de dois corpos mutuamente desflorados.
- Bandido... abusador! A desonrar a minha filha à socapa! Padilla levantou a catana para descarregar. Hipólito deu um salto, nu, agarrando à pressa as cuecas. O pai ultrajado continuava nos palavrões, enquanto a filha implorava não fizesse nada.
- Vou-tos cortar rentes... atrevido violador de menores. Vou-tos cortar rentes e reduzi-los a um buraquinho, como as meninas, hombre!
Instintivamente, Hipólito largou as cuecas, colocando as mãos sobre o órgão, encostando-se ao canto da parede, o rosto incinerado pelo pânico.
A mulher chorava, num berreiro de vaca mal mungida; as filhas interpuseram-se, frente ao pai. Não queriam sangue. Cesaltina puxava o lençol e escondia o rosto por entre as almofadas. Hipólito, gaguejando, na posição caricata, balbuciou:
Eu... tenho boas intenções para com a Cesaltina.
Boas intenções! Aproveita-se da minha ausência... todos fora
de casa, para seduzir e desgraçar uma inocente... uma menor de dezassete anos. Isto não vai ficar assim, não. Ninguém tira os «três» a uma filha minha e fica-se a rir. Nem que seja um Vidal! Vai tudo à facada... à catanada, hombre!
- Eu... eu estou pronto a casar.
- Não terás outro remédio, hombre... Senão, apresento queixa e malharás com os ossos na cadeia, onde mereces ficar.
A humilhação do rapaz aumentou quando foi obrigado a vestir-se diante de todos, enquanto ouvia a lengalenga vociferante. Cesaltina soluçava, dizendo:
- Juro... que não sabia que voltavam mais cedo... Hipólito estava já muito longe dele. Encarava o escândalo, o rosto contorcido dos pais. O nome dos Vidais na lama, com a repercussão de ele ser um violador de menores. Um momento de delírio e, de repente, tudo se transmudava em tragédia, com consequências enormes, envolvendo muitas vidas.
- Não se exalte, Sr. Padilla... Eu tenho muita honra em casar com a sua filha... Eu amo-a.
- Chama-se isto amor, conspurcar uma criança, desfrutar a menoridade antes do meu consentimento e da bênção do casamento! Isto não vai ficar assim. Eu corto-os... ai, se não os corto rentes, hombre!
Fez menção duma nova investida, mas as mulheres seguraram-no. Cesaltina soltava gritos patéticos, gemendo que, se os cortasse, |não ficava nada para ela. Era já uma cena teatral. Padilla sabia que ”o moço estava encurralado. Foi difícil deixá-lo partir. Queria a polícia, chamar os Vidais e decidir tudo naquela noite. Hipólito, desorientado, abjectamente suplicou. Não havia necessidade de escândalo. Iria falar aos pais, arranjar o casamento o mais depressa possível. Tudo se faria sem barulho, nas calmas. Padilla assentiu, sob ameaça de coisas concretas, sem subterfúgios nem evasivas. O jovem, apertando o cinto, saiu aos trambolhões.
Na rua, um grupo de curiosos juntara-se, atraídos pelo escarcéu. A vizinhança, dispersa, estava habituada às zaragatas dentro daquela casa. Mas os berros do Padilla, os gritos histéricos femininos, mais altos do que usualmente, significavam que alguma coisa acontecera mais, além das bofetadas e pauladas às mulheres da casa. Tinham visto o Vidal menino entrar pela porta adentro e até agora não saíra. Sem pinta de sangue, Hipólito atravessou o pequeno ajuntamento, os cabelos desgrenhados, as roupas desmanchadas, sem aprumo nem dignidade. Na mente torturada, com a sensação de que escorregara para uma armadilha previamente planeada, martelavam duas palavras:
- Estou perdido.
Instintivamente, tomou o caminho para casa, mas, no meio do lusco-fusco das hortas, parou. Todo o seu mundo calmo e seguro se desmoronara. Já não pensava no amor. Cesaltina era um borrão hediondo, conspurcado pela traição. Pensava na enormidade que cometera, na desilusão que ia infligir aos seus. Como encará-los a eles, que gozavam de tanta respeitabilidade e defendiam a rigidez dos costumes, uma família orgulhosa, mas a quem até então não se podia apontar um senão. Tinha agora febre, sentia-se doente, com vontade de vomitar. Se fosse mais corajoso, a única fuga era o suicídio. Mas, em vez disso, apoiava-se ao tronco duma árvore, como se estivesse embriagado. Lembrou-se de que os pais tinham convidados em casa e haviam insistido com ele para não regressar tarde. Oh, para casa não podia ir naquele estado! Lá estariam o presidente do Leal Senado, alguns membros do clero e certas pessoas marcantes no burgo.
Então, recordou-se, como tábua de salvação, do seu padrinho Gonçalo Botelho, com quem os pais estavam, há muito, de relações cortadas, mas que mantivera para com o afilhado de crisma o mesmo afecto, embora este, no seguimento dos pais, o tratasse à distância. Era viúvo e tinha uma vivenda na zona fora de portas da Areia Preta, entre magníficas frondes. O trajecto seria longo, mas mais preferível do que enfrentar a austeridade do pai.
Nunca soube quanto andou. Abriu a cancela da porta gradeada do jardim. Havia luz na janela da sala. Bateu freneticamente a aldrava de ferro e não tardou que alguém se aproximasse do outro lado. O padrinho, espreitando, soltou uma exclamação de espanto. Hipólito enfiou para o vestíbulo adentro, sem uma «boa-noite», com ar desfeito.
- O que foi?
- Aconteceu uma desgraça... O padrinho mandou-o sentar na sala, dum conforto luxuoso, de mobília de pau-rosa, em forma de bambus entrelaçados. Em armários e pelos cantos, havia o reflexo de porcelana seak-ván e azul e branco, proveniente dos candeeiros de petróleo estilizados. Uma enorme cama de ópio, certamente uma peça de museu, ocupava a parede do fundo. Num ângulo da sala destacava-se um piano de cauda.
Gonçalo Botelho ofereceu um cálice de brandy, que o jovem emborcou, explodindo em tosse. Antes que pudesse esclarecer o natural alarme do anfitrião, Hipólito desatou num choro convulsivo. Depois, com a voz entrecortada, comendo aqui e ali as palavras, repôs nos ouvidos do padrinho desolado toda a sua tragédia.
O mais idoso abanou a cabeça com tristeza. Também contara com o afilhado para um grande futuro. Assistia agora ao ruir de todas as esperanças por causa duma tremenda cabeçada.
- Diabo, foste logo meter-te com os Padillas. Gente ruim...
Havia por este Macau fora tanta rapariga prendada e bonita. E precisamente iria optar para uma criatura da ralé. A aversão do padrinho era eloquente de mais para exigir qualquer explicação.
Era uma autêntica desgraça, dessa não se livraria ele, pois Pablo Padilla não era homem para ceder com duas cantigas melífluas. Ele, Gonçalo, também não era pessoa ideal que pudesse conversar com Cristóvão Vidal. O severo compadre cerceara abruptamente as relações, censurando-lhe a vida «dissoluta» que, afirmava, ele levava, para mau exemplo do afilhado. E, justamente, este vinha acolher-se in extermis na sua casa. Calculava que os Vidais acusá-lo-iam de ter desencaminhado o moço.
No estado em que estava, porém, não podia correr dali o afilhado. Gostava dele. Levantou-se e despachou, num cicio, a espampanante donzela que espreitava, assustada, duma porta interior, ordenando tomasse a cadeirinha da casa. Ela, submissa, retirou-se, olhando com simpatia para o rapaz choroso, carregando o alaúde da profissão. Julgara Gonçalo poder passar a noite a ouvir o dedilhar da cantadeira, entre duas cachimbadelas de bom ópio, mas tinha de se resignar a escutar o pranto manso do seu afilhado. Suspirou, mas foi bom. Um nadinha mais calmo, Hipólito avaliou a sua estupidez de nunca se ter aconselhado com o padrinho. Era um homem sabedor e com larga experiência da vida. Feições correctas, alto e magro, tinha os cabelos e uma barbicha quase brancos, embora só orçasse pelos quarenta e tal anos. As suas maneiras distintas impunham-se e, sem cultivar o dandismo, a sua indumentária impecável, de recorte inglês, era um pasmo para os «elegantes» da Praia Grande, nas raras vezes que vinha à cidade. Nascido em Macau, filho dum alto funcionário do Consulado de Portugal em Xangai, que se deixara depois ficar na grande metrópole comercial da costa da China, regressara aos doze anos para estudar no Colégio do Seminário de S. José, para aprender português como ele devia ser aprendido. A amizade, que havia de ser rompida mais tarde, com Cristóvão Vidal brotara dos bancos da escola. Hipólito pouco mais sabia do padrinho. Depois dos estudos partira novamente para Xangai, andara uma dúzia de anos fora, retornando para Macau senhor de fortuna e com a mulher, gentil e tímida, mas de rosto extremamente desfavorecido. O casal era um contraste, ele belo e simpático, ela apagada, uma figura que não valia dez réis de mel coado. Atribuiu-se logo que a razão daquele casamento se fundava em ela ser rica, única justificação plausível. No entanto, enquanto ela viveu, Gonçalo Botelho foi um marido terno e fiel, um exemplo digno, que mereceu a Cristóvão Vidal convidá-lo para padrinho de crisma do filho. Após a morte da mulher, Gonçalo liquidou o seu negócio de exportação e importação, trespassou-o a outrem e começou a viver só dos seus rendimentos, afastado do convívio social. Sem alarde, «entregou-se a uma existência imoral e dissoluta com cantadeiras e quejandas mulheres», no dizer de Cristóvão Vidal, desbastando assim o honrado dinheiro da esposa.
Agora, era esse mesmo homem, de quem tanto mal ouvira falar, que tentava ajudá-lo. Pelo sai kó da casa enviou uma carta ao compadre inimigo, dizendo que Hipólito estava em sua casa. Não se alargou muito em explicações, deixando para o dia seguinte o estoirar da tragédia. No entanto, ficava a aguardar que Vidal o visitasse, naturalmente surpreendido com o procedimento insólito do filho. Mas Vidal não apareceu, nem qualquer outra pessoa da família.
- Por ora nada mais há a fazer. Tu vais dormir lá em cima, que eu fico nesta cama. Estás esgotado. Amanhã, as coisas estarão mais claras e podemos planear melhor.
Só no dia seguinte compreendeu a atitude dos Vidais. Pablo Padilla não esperara muito para desencadear o escândalo. Estava no seu elemento, era mesmo conflituoso. Imaginou o que os Vidais estariam a preparar, em conciliábulo, folheando as leis, para livrar o rapaz da «enrascadela». Uma hora depois de Hipólito sair aprontou-se para dar fortes estremeções no orgulho da gente «com sangue azulado da tinta do tinteiro». Tinham pretensões a fidalgos? Ora, toma, passava-lhes uma castanha quente para a boca, que haviam de saltar. E urrou à filha desgrenhada que já se podia considerar uma Vidal.
Cesaltina pulou, ainda meio nua, rojando-se aos pés do pai. Hipólito não fugiria, porque não podia fugir, todos sabiam. Gostava genuinamente dela. Para quê então todo aquele escarcéu, quando ele prometera cumprir. Quem casava era ela, que ia pertencer a uma nova família. Não seria mau auspício iniciar um parentesco com barulho, insultos e outros desmandos insensatos?
Pablo Padilla calou-a com dois bofetões, que lhe incharam imediatamente as faces. Queria ver a cara de Cristóvão Vidal, cilindrada pelos factos. Era a sua desforra e nada o podia deter. Saiu de casa com a mulher e as duas filhas mais velhas, que alinhavam, sempre prontas e solidárias, para investidas desse género.
Padilla conseguiu o seu intento, fez um berreiro diante dos Vidais e dos convidados, vexados com a violência teatral do «espanhol». O seu desplante foi tanto que quebrou toda e qualquer possibilidade duma conciliação futura entre as duas famílias. Bem tinha razão Cesaltina, que pagaria caro os desmandos do pai.
Cristóvão Vidal, lívido e sem fala, recompôs-se no fim. Em sua volta ruía um terramoto, mas não ia consentir que aquele sevandija levasse a melhor. Reunindo os pundonores dilacerados, replicou:
- O violador da sua filha é maior. Eu nada tenho que ver com as suas loucuras, não respondo por elas. É a ele que deve pedir contas da sua irresponsabilidade. É ele que deve casar com a sua filha, pois a descaroçou. O rapaz mentiu-me, desonrou-me. De hoje em diante deixou de ser meu filho. Só tenho um agora. O violador da sua filha não está aqui escondido. Foi tão cobarde que nem sequer voltou. Não permitirei que atravesse a minha porta. Está algures, a chafurdar na lama. Agora, retire-se imediatamente ou chamo a polícia.
Disse e cumpriu. Foi duro e inexorável, com a concordância dos seus. Hipólito ficou morto para eles. Não quis ouvi-lo, nem a padres que intervieram, nem a Gonçalo, a quem acusou, como bem adivinhara, de tê-lo induzido nos caminhos da perdição. No dia seguinte ao escândalo, Hipólito recebeu, na chácara da Areia Preta, malas contendo as suas roupas e objectos pessoais, incluindo a caixa de violino e as cartas da Cesaltina. Cortavam cerce com ele, numa altura em que mais precisava de apoio e orientação.
Nos dias dolorosos que se seguiram foi Botelho quem lhe valeu. Aparou a fúria fictícia do Padilla, sem o menor receio da sua catana aguçada. Disse-lhe friamente, cara a cara:
- O meu afilhado há-de casar com a sua filha. Prometeu-lhe e não vai faltar. Deixe-se, portanto, de ameaças. Para bem de todos, devia ter feito menos alarido. Não tenho medo da sua catana. Sei-me defender, aprendi as artes marciais do kong f u e do jit-jutsu. Parto-lhe o braço em dois segundos. E outra coisa... Não toque no rapaz, porque então revelo o que sei de si.
Padilla engoliu, partiu e nunca tocou num fio de cabelo do Hipólito. Os trâmites do casamento foram preenchidos sem necessidade de recurso à justiça. O «espanhol» assenhoreou-se do genro almejado, mas não da amizade dos Vidais.
Hipólito casou-se com o coração trespassado e não teve nenhum dos parentes, nem os chegados nem os afastados, a assistir ao acto. Só o padrinho o acompanhou no transe, além de lhe arranjar o emprego de escriturário no Leal Senado da Câmara. Mas também não tardou em afastar-se.
Não tolerava Cesaltina, desconfiando que fora cúmplice do pai. Achava-a ignorante e vulgar, que destruíra um futuro promissor. O procedimento de Hipólito também contribuíra para isso. Tornara-se abúlico, à mercê dos Padillas, sem reagir com dignidade frente à adversidade. Sentia-se esmagado pela vergonha e guardava um receio infantil pela catana do «espanhol».
Para um homem como Gonçalo Botelho, os fracos não contavam. Depois, havia a antipatia recíproca de Cesaltina, que insistia com o marido para resfriar aquelas relações, pois via no padrinho dele um inimigo e um acusador. À deriva, Hipólito inclinou-se para ela e Gonçalo compreendeu. Alheou-se a tempo, encerrando-se na sua chácara.
Sem meios de fortuna, com um parco vencimento, foi viver com o sogro. Instalou-se no funesto quarto da Cesaltina, transformado em aposento do casal. As irmãs foram lançadas para um quarto interior que ninguém utilizava, depois de convencidas e submetidas à cacetada. Como tudo era diferente da Rua Formosa! Agora, no fojo dos Padillas, assistia quotidianamente às brutalidades e grosserias do «espanhol», que tratava a mulher e as duas filhas mais velhas como cadelas tinhosas. Só poupava Cesaltina, que era a sua favorita, a princesa. Só ela é que luxava, não fazendo nenhum trabalho, ora deitada por entre as almofadas da sala, ora no quarto, bocejando languidamente, apenas interessada em vestidos e atavios, enquanto a mãe e as irmãs feias se esfalfavam nas lides domésticas. Ninguém se atrevia a mudar tal estado de coisas, porque Padilla era um verdadeiro tirano que não admitia qualquer rebeldia. Por imposição dele e como era mais uma boca, Hipólito entregava todo o vencimento à mulher, apenas ficando com uma ninharia para os cigarros e pouco mais. A parte de leão desse vencimento ia para a algibeira do sogro, que tudo controlava.
Todos os arroubos que nutria por Cesaltina tinham desaparecido. Não correspondera à imagem romântica que fizera dela. A realidade era muito outra. A suspeita de que ela comparticipara na armadilha que lhe prepararam despojara-o da possibilidade de amá-la como dantes. Fora logrado, mas já não podia alterar o seu destino. As vulgaridades dela deprimiam-no. Era apenas uma mulher banal, de poucos estudos, divertindo-se com as mexeriquices verrinosas das irmãs e da mãe, desinteressada dos livros e de todos os anseios espirituais que eram a predilecção do marido.
Ela também sofrera uma enorme desilusão. Simpatizara com ele desde o primeiro encontro, lisonjearam-na as suas atenções e vira no jovem romântico uma oportunidade de transplantar-se para uma melhor posição social. Sonhara, então, pertencer ao meio dos Vidais, que, nos estritos limites da Cidade do Nome de Deus, equivalia a rolar com a «nobreza». Gozaria do privilégio de frequentar o Clube de Macau e o Grémio Militar e de ir aos bailes do Palácio, «tu cá, tu lá» com a gente grada, situações que, para a sua cabecinha e numa cidade pequena, eram honras inalcançáveis enquanto fosse uma Padilla.
É certo, ao seu apelido acrescentara o de Vidal. Mas nada mudara. Ela continuava a ser, no fundo, uma Padilla, o marido reduzido ao seu nível. Um pusilânime, um triste, destituído da imagem de herói que tivera dele na fase do namoro. O terror que demonstrava pelo sogro, a falta de personalidade, revolviam-lhe o estômago. Não o ajudou em nada, antes tornou-se quezilenta e implicativa, num crescente desdém, sobretudo porque estava grávida.
O chá fatídico teve assim como resultado Victorina Cidalisa Padilla Vidal. Quando a criança apareceu, esperneando, raquítica e feia, a avó comentou:
- Parece um ratinho...
- Uma rapariga! É preciso ter mesmo azar! - acrescentou o avô, com a sua habitual grosseria.
Cesaltina acreditou nisso mesmo e não se mostrou uma mãe orgulhosa. Foi com desagrado e impaciência que lhe deu de mamar. Pablo Padilla, que desejava um varão para neto, vociferou a sua decepção, acompanhado pelo coro das mulheres. Só o progenitor revelou uma genuína emoção, a alma alanceada pelo receio de que o seu tenro rebento não vingasse. Se desaparecesse o fruto da grande cabeçada, que lhe restava na vida para amar?
Victorina era trigueira, nascera muito peluda, os olhos e o nariz vindos directamente do sangue dos Vidais. Isto bastou para Hipólito considerá-la seu retrato vivo e aumentar a sua ternura. Ninguém acreditou que ela medrasse. Todavia, a criança escanzelada e feia resistiu e foi-se desenvolvendo, entre berros, fúrias, desacatos e palavrões, bocas viperinas falando mal de tudo e de todos, num ressentimento aberto, como se o mundo em bloco estivesse contra os Padillas. Só o pai lhe dava mimos quando podia. Como ninguém quisesse tomar conta dela, contratou-se uma «crioula», isto é, uma enjeitada, criada na Casa de Beneficência das Madres Canossianas, para olhar por ela. Para Victorina, a Celeste foi uma verdadeira mãe.
A escolha do nome não teve a interferência de Hipólito. Chamou-se Victorina porque o «espanhol» queria Victor para o neto e Cidalisa era o nome da avó. Por respeito filial, Hipólito escreveu uma carta aos pais, anunciando a existência duma neta. Não recebeu resposta. Ainda não tinha perdido as esperanças duma reconciliação. Ansiava por voltar para o meio austero da Rua Formosa, mas onde todos se tratavam com delicadeza e boas maneiras. Embora decepcionado, insistiu de novo, convidando-os e aos irmãos para o baptizado da filha. Não obteve resposta. Guardou, em silêncio, a deliberada ofensa e nunca mais a esqueceu. Estava disposto a perdoar todos os vexames que lhe tinham infligido. Mas não lhes perdoou o desprezo que atingia a filha inocente. Durante alguns anos, esta foi, aparentemente, a única manifestação de personalidade de Hipólito Vidal.
De filho morgado dos Vidais da Rua Formosa passou a ser apenas um Vidal qualquer, anónimo e obscuro. A diferença sentiu-a na rua, no emprego, no trato social e no quotidiano. Ninguém lhe conhecia a gargalhada. Era um melancólico, que mostrava com parcimónia metade dos dentes, num sorriso brando. No serviço cumpria, obediente e disciplinado, mas sem rasgos de ambição. Esforçava-se por se apagar, como se estivesse permanentemente envergonhado. Era com imenso confrangimento que passeava com os Padillas nas ruas, mal vestido e exibindo evidente pobreza.
Cedo o cabelo começou a recuar-lhe no alto da testa. O crânio avermelhado, a brancura do rosto e das mãos, o ventre a crescer-Ihe, por motivo duma vida sedentária e caseira, sem exercícios físicos, era um verdadeiro contraste com os Padillas morenos. A «cidade cristã», cruelmente, alcunhou-o de Ovo Estrelado.
Quatro anos decorridos, não tinha ainda outro descendente. Pablo Padilla é que não se conformava com a situação. Queria um neto, um varão, em que se misturasse o sangue ferrabrás dele com a nobreza dos Vidais, ainda que fosse da «água de tinteiro». Um varão era sempre um varão. Com um neto, os avós do outro lado não ficariam indiferentes, tinha a certeza. Nisto era secundado pela Cesaltina, chorosa, que se lamentava da indiferença sexual do marido.
- Ele é tão mole. Faz tudo com esforço, sem energia... Um «lesma», pápi.
Isto enfurecia o «espanhol». Não admitia semelhante lassidão num homem novo, cuja saúde era normal, sem nenhuma recaída nos pulmões. E Cesaltina era jovem, bonita e apetitosa. Onde a razão daquela moleza? Desviava a sua cólera para as outras filhas, estéreis, porque ninguém as queria, e gritava:
- São uns coiros! Nem os cules de Check Chai Un as querem. Safadas... secas como vassouras-de-coco! E vão comer de mim até morrer.
Sofreava, porém, o seu ressentimento diante do genro amorfo. De qualquer maneira, era um Vidal. Alimentava ainda muito viva a esperança na almejada reconciliação, para o bem da filha e dele. Era só do neto que precisava.
- Vamos a ver se damos vermelhidão àquela água azulada disse, abraçando a sua «princesa».
Teve então largas conversas com o genro. Contou aventuras escabrosas, para o engodar, experiências que ainda tinha com certas mulheres da «cidade chinesa». Foi mais longe. Aconselhou-se com os ervanários e curandeiros, cuja amizade cada vez mais cultivava, que lhe indicaram poções afrodisíacas, poções estas que Hipólito tomava, em forma de chás, sem comentário. Vigiou os períodos mensais da Cesaltina, pondo de atalaia a mulher e as outras filhas.
Nenhuma tentativa, porém, adregava modificar o peso morto em que Hipólito Vidal se transformara. O fundo do problema residia em que a Cesaltina não lhe despertava o mínimo interesse. Aceitava-a, apenas, com resignação, por ser sua mulher. Nunca se ressarcira do choque inicial de que resultara aquele casamento forçado e a sordidez como tudo depois decorrera. Alguma coisa fenecera dentro e fora dele, aumentando com os anos. Tinha uma vida monotoníssima, sempre igual, serviço casa e casa serviço, com alguns passeios aos domingos, que sempre o confrangiam. Já não lia livros, que tinham sido o seu deleito. Primeiro, porque escarneciam dele, dizendo que perdia o seu tempo, em vez de arranjar mais dinheiro para casa. Segundo, porque os livros tinham-no traído, pintando um mundo qite não correspondia à realidade dura e terra-a-terra. Nem a filha, feia, agreste e chorona, o consolava. Sem amigos, porque ninguém vinha ao lar dos Padillas, o único entretenimento era tratar do jardim, do pombal e da capoeira, ser o carpinteiro da casa, a consertar uma porta ou uma janela.
Padilla perdeu a paciência. Hipólito viveu momento dolorosos, perseguido pelo sogro, pelas queixas aceradas da mulher e pelo escárnio da sogra e das cunhadas. O «espanhol» foi franco, afiando a sua catana minaz:
- Quero um neto... ou vai tudo raso, hombre! Não te deixaremos dormir e comer do melhor, sem que cumpras o que é da tua obrigação. Isto de gelado aos vinte e tal anos é coisa que não se mete na cabeça de ninguém. Arranja-te como entenderes... consulta médicos, curandeiros ou feiticeiros ou lá o que aparecer. Contanto que acalmes os nervos da minha princesa e lhe enchas a barriga, hombre! Um neto... ou isto acaba mal.
E, ostensivamente, experimentou a lâmina aguçada da catana. No meio da sua atarantação, Hipólito pensou no padrinho. Era o único que lhe podia acudir naquele transe. Experiente, muito vivido e profundo conhecedor dos homens, teria certamente uma solução. Se lhe valera uma vez, por que não outra vez?
No sábado seguinte, depois do almoço, disse que ia avistar-se com Gonçalo Botelho. Ouvira que estava doente e era, portanto, seu dever visitá-lo. Não encontrou objecção nenhuma do mulherio, concentrado nos rumores dum escandalozinho da Praia Grande. Padilla estava com os ervanários e a filha chorava, ranhosa, nos braços da «crioula». Saiu lesto, para que o não impedissem no último momento.
Era tão raro passear sozinho que respirou feliz. Não tinha pressa e queria gozar o sol da Primavera efémera, antes que os ardores do Verão flagelassem aquela terra. Desceu a pequena encosta, atravessou os campos relvados do Tap-Seac, sob o sussurro dos bambuais e das acácias enfloradas de vermelho, e chegou às hortas de Long Tin Chiin, correndo à sombra dos plátanos meditabundos. Em seguida, abriu-se a zona da Flora, calma e bucólica, longe dos ruídos citadinos. O palacete de Verão do Governador espreitava, como uma mancha cor-de-rosa, no meio dum pequeno parque. Em contraste e perto, o quartel da companhia europeia de infantaria era um borrão amarelo muito vivo ao sol. Vivendas disseminavam-se, como ilhas pontilhadas de flores, por entre várzeas de arroz e hortas. Numa delas passara um Verão. Mas eram recordações dum passado que devia esquecer. Na estrada macadamizada, um búfalo, preso a um ramo de árvore, ruminava pachorrentamente, insensível às moscas e à lama que lhe crestava o dorso. O lago da Flora era um espelho esverdeado cintilando revérberos de prata. Novamente suspirou e respirou a largos haustos a pureza campestre do sítio. A pressão da casa fora-se, sentia-se livre, como um passarito à solta.
Ladeou o Jardim de Senna Fernandes, donde partiam vozes de adultos e da criançada em piquenique, cortou os atalhos sussurrantes da Montanha Russa e parou no alto da Rampa dos Cavaleiros, que ligava à Areia Preta. O mar, em baixo, rumorejava por entre os recifes, subindo e descendo em espuma branca, a Praia da Boa Vista e a da Horta do Colaço e as que se seguiam até à Porta do Cerco e além. Na copa das árvores ia uma chilreada álacre de avezitas. Em contraste, o cemitério inglês dormitava, melancólico e contemplativo. Mais ao longe, ao alto da colina de Mong-Há, o perfil escuro da fortaleza, onde drapejava à aragem da tarde a bandeira azul e branca.
Hipólito começou a descer a estrada, pisando levemente a areia esbranquiçada. Fingiu não ver alguns «elegantes» que passeavam a cavalo, em exibições de equitação, nem a burricada que passava alegre, raparigas e rapazes, no dorso dos jumentos, chouteados por cules. Só quando chegou à cancela da chácara de Botelho sentiu um franco constrangimento. Visitara tão pouco o padrinho nesses últimos quatro anos, e apenas pelo Natal, que duvidava do acolhimento. Mas não podia recuar, tinha um problema magno para resolver.
Mal a sineta tocou, um criado atendeu e foi anunciá-lo ao patrão. Gonçalo apareceu para recebê-lo, com genuína manifestação de prazer. Nem uma palavra de censura a recordar o silêncio e a longa ausência. Mais uma vez Hipólito se doeu de continuar a ser um ingrato e recorrer a ele quando havia uma situação aflitiva.
Foram para a sala fresca, onde luzia, sempre nova, a mobília de pau-rosa. O principal ornamento, a cama de ópio, não parecia ser utilizado, com a enxerga vermelha remoçada. Havia mais porcelanas ricas, colocadas com gosto sobre mesinhas e estantes. Pairava um fino perfume de mulher, talvez escondida num recanto da casa. Como vivia bem o padrinho no discreto remanso da sua chácara!
- Vai um xarope para matar a sede ou qualquer coisa mais forte!
- Como quiser.
- Então um scotch e soda. As sodas estão mergulhadas na água gelada do poço.
Radiante com a surpresa daquela visita, chamou-o para a varanda alpendrada, oculta da estrada pela vegetação, enquanto ia à cozinha preparar pessoalmente qualquer coisa para ser regada com whisky. Depois, sentados entre a mesa de verga, em cadeiras do mesmo estilo, começaram a banquetear-se. Havia atum e sardinhas em conserva, um generoso pedaço de queijo flamengo, picles e pão-de-ló. Anfitrião de maneiras finas, Botelho desculpou-se:
- Foi o que se pôde arranjar, assim de pé para a mão.
- Quanto a mim, basta.
Os copos tilintaram e o scotch escorregou pela garganta abaixo de Hipólito, que não fez careta nenhuma. Soube-lhe bem, o que era de estranhar, pois só provara anteriormente uma ou duas vezes.
- Bom, já é tempo de me dizeres o que te trouxe aqui. Nunca vieste visitar-me sem que houvesse algum problema a atormentar-te.
Hipólito não escondeu o seu embaraço. Pediu desculpas. Atrapalhou-se no princípio, mas iria até o fim. Se havia alguém disposto a ouvi-lo e compreendê-lo, era aquele homem.
Gonçalo Botelho, enquanto cocegava a pêra branca, escutou. Todo o desfraldar da história pungiu-o. O abandono da família, absolutamente inadmissível, baseado em pruridos de soberbia que raiava o insano, a existência com o bando dos Padillas, tão contrários ao temperamento sensível do afilhado, que crescera num nível e num meio tão diferentes, tudo o encolerizava. Via no rapaz um desperdício autêntico, um daqueles talentos que feneceram de início, à falta de estímulo, uma pequena águia a quem cortaram cruelmente as asas à nascença. O mais patético é que não se queixava. Aceitava a sorte, porque fora o único culpado e não tinha o direito de acusar ninguém, senão a sua própria candura e ingenuidade.
Não viera ali para se lamentar do passado. O que estava feito, estava feito. Vinha por causa da sua estranha frieza sexual. Não cumpria com a esposa. Aliás, fora a única que conhecera. Fizera-lhe, é certo, uma filha. Mas as relações corriam mal, iam piorando num crescendo. Não percebia. Cesaltina era jovem, nada feia, mas não o atraía mais. Num breve momento amara-a loucamente e, se tal não sucedesse, nunca teria dado a cabeçada. Mas o amor fora-se e com ele todo o interesse. Não podia apagar a impressão, convertida em certeza, de que ela pactuara com o pai e o resto da família para lhe preparar a armadilha, embora sempre o negasse. Mas, fosse o que fosse, estava casado com ela e sofria os maiores vexames. Ela queria um outro filho. O sogro não o largava com as suas grosserias e mais o mulherio. Emborcando uma forte dose de whisky, narrou pormenores vergonhosos.
O padrinho abanava de vez em quando a cabeça, mas não o interrompeu. Era salutar que lhe permitisse falar e dizer o que lhe dava na real gana. Adivinhava-se que nunca se abrira com ninguém, totalmente desinibido e livre, como desta vez. Vinha ao padrinho, comicamente, a imagem dum indivíduo apertado com a prisão de ventre há um ror de tempo e que de repente defecasse todas as mazelas e podridões, para o seu imenso alívio.
O desabafo levantou a sua disposição. Comeu e preparou por si uma nova dose de whisky e soda sem pedir permissão. Aquela atitude, mais do que qualquer outra, reconquistou a simpatia do mais velho.
- Há algum defeito funcional em mim que não possa superar?
- Não acredito na tua incapacidade. És novo de mais e já provaste que podias ser pai. O que tens é uma ideia fixa que te paralisa. Pensas que vais falhar e falhas mesmo. É tudo uma questão psicológica. Não creio tenhas nada de anormal.
- Então o que é...
- É a fartura... a prisão.
- Oh!
- Uma solução seria mudares-te para casa nova onde vivesses só com a mulher e a filha.
- Julga que não encarei tal solução? Mas ganho tão mal. Não se esqueça de que, quando fui abandonado, o meu sogro acolheu-me de braços abertos. Seria ingrato não ajudar a casa. A Cesaltina, por outro lado, não está disposta a deixar os pais. É a favorita... a princesa, e não sabe governar um lar.
Nisto se enganava redondamente o afilhado. Cesaltina deixaria os pais se lhe oferecessem boas condições de vida. Mas para quê perturbar mais ainda o coração do jovem, de si tão atribulado?
- Oh, se pudesse fechar a boca àquela gente! Todos querem um varão. Moem-me com isto todos os dias, todas as horas. É de mais.
- Pelo que me afirmaste, só conheceste uma mulher, a tua. É admirável que isto aconteça nos dias de hoje, em que um moço de quinze anos já vai às putas. Outra solução que vejo é que conheças mais uma ou umas. Lembras-te da história do rei perdulário? «Nem sempre galinha, nem sempre rainha?» Pois precisas de experimentar uma nova. Dali tirarás a prova dos nove.
- Uma outra mulher? - exclamou Hipólito, como se o padrinho lhe dissesse uma enormidade.
- Não digo uma amante, homem! Se mal tens dinheiro para sustentar uma família, quanto mais uma amante. O que digo é que precisas de experimentar uma outra, sem compromissos nem obrigações. Uma daquelas com quem passarás umas horas felizes e depois se despede para nunca mais, como amigos.
- Uma mulher da vida... é ao que o padrinho se quer referir.
- Uma coisa melhor... uma cortesã, umapei-pa-chai. Uma coisa mimosa, limpa, asseadinha e que saiba fazer um trabalho escorreito, por gosto, para o teu repouso e acalmia de nervos. Este o melhor remédio que te sugiro para já. Depois, irás ao cura confessar o teu pecado, se achares que é pecado.
Aquelas palavras abalaram a consciência pudica de Hipólito Vidal. Era uma sugestão inadmissível anos atrás, sobretudo nos anos virgíneos e inspirados de literatura romântica. Agora, elas soavam com tremendo impacte, com um sabor de novidade e de aventura. Se aquilo era a solução, que viesse. Mas balbuciou:
- O que hão-de dizer de mim.
Gonçalo sorriu perante tanta candura. Tocou-lhe no ombro e disse:
- Primeiro de tudo, é preciso que te descubram. Se assim for, dirão que sabes aproveitar o teu tempo. Censurar-te-ão os ortodoxos e os pilares da moralidade ou aqueles que te invejam por não terem tido a mesma sorte. E que importa que te critiquem? Nunca havemos de contentar a todos. E os que nos criticam esquecem-se de que têm telhados de vidro.
Houve um ligeiro silêncio enquanto comiam fatias de pão-de-ló. Hipólito, sem desejar mostrar-se demasiado ansioso, aguardava que o padrinho prosseguisse.
- O principal é arranjares tempo. Sem despertares atenções nem suspeitas. Não quero os Padillas à minha porta, a invectivar-me que te levo para maus caminhos. Esta é uma zona sossegada, fora de portas, de muita respeitabilidade. Sei guardá-la, não desafio abertamente a moral e os preconceitos burgueses da sua gente. Sei que suscito a curiosidade, e é o mistério do que aqui se passa, portas adentro, que me confere o prestígio todo.
A tarde declinava. Hipólito já olhava para o relógio do padrinho, a imaginar a história para justificar a sua demora.
- Confia em mim, que te apresento uma moça com estonteantes predicados. Garanto-te que, se nada conseguires com ela, não conseguirás com outra qualquer. Então é que estás mesmo perdido de todo. Mas não vai ser assim, tenho a certeza. Será nesta casa, na protecção destas árvores e paredes, que veremos se és um homem, como julgo que és.
- Descreva-me melhor... essa mulher.
- Não... Por mais que a pintasse, não ficarias a fazer uma ideia. Confia no meu gosto, que dessas coisas percebo eu. Tem paciência e escolhe um dia propício. Depois de passares pelas mãos da Y Leng, nunca mais ninguém se queixará das tuas «molezas de lesma» nem das tuas «frialdades de geleia».
Neste momento recordou-se de que no sábado seguinte a família toda iria para Hong-Kong, para um casamento. Ele ficaria para zelar pela casa. Até a filha ia, mais a «crioula». Combinaram a hora, apertando a mão. Hipólito saiu eufórico e entontecido com a perspectiva. Já não via mal nenhum. Era para o seu bem e para a sua paz. Tinha de calar o sogro e o mulherio.
Que tipo de mulher seria a Y Leng, que prometia possuir a cura dos seus males? Imaginava apenas uns bastos cabelos negros, de fio grosso, em penteado caprichoso e entrançado de ornamentos. Tudo isto a encimar um rosto oval, de malares salientes, num corpo pequeno, em cabaia espampanante e recamada de lantejoulas.
Não achou esfalfante.o caminho para casa, no lusco-fusco da tarde e com as primeiras estrelas a acender em pisca-pisca.
Preparou uma história patética para justificar a prolongada ausência, mas, quando chegou, a casa encontrava-se num rebuliço. As cunhadas tinham-se envolvido numa zaragata com a vizinhança, por causa dum gato que lhes roubara uma rica posta de peixe da cozinha. Ninguém se preocupou com a sua entrada. Foi direito ao quarto e alheou-se de tudo o mais.
Ficou a suspirar pelo dia almejado. Durante o sábado e o domingo, ele estaria em completa liberdade. A única inquietação era surgir um contratempo que desfizesse o plano. Uma súbita doença, o Padilla a desistir à última hora, qualquer crise extemporânea na filha pequenina. Contou os dias, a ansiedade escondida numa máscara de impassibilidade. Aprendera a ser dissimulado e hipócrita. Os Padillas partiram, enfim, com muitas recomendações de ter bem fechadas as portas e janelas, pois andavam pelo bairro ratoneiros. Ao certificar-se de que tinham desaparecido na volta da esquina, soltou um grito de alegria. Enfim, só, por quarenta e oito horas, depois de quatro anos de tormento.
Trancou as portas e janelas e atestou que nenhum ladrão poderia penetrar na fortaleza dos Padillas e escapuliu. Não levava nada para passar a noite, porque a noite toda seria vivida na chácara do padrinho. Mas isto eram pormenores sem importância.
Seguiu o mesmo caminho tomado no sábado anterior. Já ia atrasado. Gostaria de alugar uma cadeirinha, mas preferiu não provocar a curiosidade de ninguém. Andou somente mais apressadamente, achando a paisagem mais polícroma e cativante que na semana anterior. Quando se aproximou da Areia Preta, o nervoso atacou-o. Começou a palmilhar com cautela, a ver espiões por toda a parte.
Tinha a sensação de que praticava um delito. E se afinal os Padillas não tivessem embarcado e viessem de escantilhão abaixo, pela estrada macadamizada, num coro de abjurgatórias? Estremecia ao imaginar o sogro a entrar de rompante pela chácara adentro, com a catana na mão, quadro que se fixara na sua mente desde o dia fatal.
Respirou quando se viu dentro da cancela do jardim da chácara. Gonçalo apareceu, estendendo-lhe a mão, e não o largou, puxando para o interior.
- Que houve? Atrasaste-te. Já julgara haver um empecilho qualquer para estragar a combinação.
- Não estou habituado a tais aventuras... padrinho.
- Descansa, homem. Não precisas de estar nervoso. É tudo para o teu bem.
- Dizer é fácil...
Afagou-lhe o ombro, enquanto largava uma gargalhada.
- Vais ver que é mais fácil do que supões. Relaxa os músculos e não tenhas o corpo tão esticado, como se fosses rebentar.
Permaneceram na sala e vieram as bebidas, trazidas pelo criado-mor, A-Kuong. A casa mantinha-se numa frescura agradável. Era um oásis, em comparação com a estrada, já batida pelo primeiro sol de Verão.
- A primeira coisa que te peço é que não comeces a magicar que te viram entrar. Há muito calor lá fora e a hora da sesta não acabou. E depois, em segundo lugar, faz um esforço e esquece o mundo exterior.
Hipólito acomodou-se melhor no cadeirão de pau-rosa, revigorado por um trago generoso de scotch. Rumores abafados não chegavam para interromper o silêncio que prevalecia ali dentro. Invejou a existência do padrinho. Poderia alguma vez ter uma casa onde não ouvisse o vozeirão odiento do sogro, onde a elegância de trato substituísse as ordinances duma língua desbocada?
Não parecia haver outra presença que não os dois. Não se atreveu, porém, a indagar, aguardando que o padrinho tomasse a iniciativa. Mas, se ninguém viesse, sofreria uma grande decepção. Era extraordinário. Ao mesmo tempo que temia o encontro, desejava-o. Apercebia-se de que aquela era a hora da verdade. Respondia maquinalmente às perguntas inconsequentes, com o pensamento distraído, emborcando novos golinhos de whisky.
Um súbito rumor de passos amortecidos alertou-o. Virou-se e deu, de repente, com uma jovem chinesa, pequenina e grácil.
Aparentava ter menos de vinte anos, mas sabia quão enganadora era a aparência numa oriental. Vestia uma cabaia que lhe descia até abaixo dos joelhos e calças, o conjunto todo de seda verde, orlado por uma tira doirada. Um estampado de flores vermelhas, azuis e brancas recamava a curva suave dos seios. Tinha os braços meio nus, duma brancura de marfim. O rosto estava desnecessariamente carregado de pintura. Sorria, dois caninos de ouro faiscando na brancura dos dentes. Sem ser bonita, era atraente. Os olhos, acentuadamente puxados, em linhas oblíquas, pareciam laminados a faca. Os malares altos davam a impressão de estarem ao mesmo nível do nariz. Mas isto eram pormenores para um esteta exigente. O que valia era o conjunto, os ademanes, a graciosidade indiscutível, o maneio das mãos finas e bem tratadas, a vozinha gorjeante, o inclinar da cabeça e o jogo dos olhos, que iam ora para um ora para outro dos dois homens. Os cabelos, negríssimos e lustrosos de óleo de madeira, estavam presos em toutiço e adornavam-nos adereços brilhantes e florzinhas cor-de-rosa, habilmente cravados. Pingentes dançavam dos lóbulos das orelhas, meio ocultas pelo penteado. Trazia nas mãos uma bandeja com duas tigelas de chá, que ofereceu a cada um.
- Esta é a Y Leng. É meiga e conhece todas as artes de sedução. Ela satisfará os teus caprichos, pois foi preparada para isso. Não terás ninguém melhor para te ensinar os caminhos do amor. Se não conseguires amá-la, então és, de facto, um caso perdido. Já está à tua espera cerca duma hora.
A moça, convidada, sentou-se ao lado de Hipólito. Não lhe apertou a mão, naturalmente, por não conhecer os costumes ocidentais. Limitou-se a curvar-se, numa vénia gentil, pondo na boca um sorriso desvanecedor, que perdoava os seus dentes de ouro.
- Não é minha amante. Para teu descanso, nunca dormi com ela. Mas conheço-a. Tem maneiras, é discreta e não te desiludirá. Ela não percebe patavina do que estamos a conversar, mas sabe que estou a enaltecê-la. Tenta ser amável, portanto, e não fiques com esse ar embezerrado.
Gonçalo Botelho falava um bom chinês. Hipólito invejou-o por ser tão fluente na língua. Ele falava pouco, com um vocabulário periclitante, porque em casa dos Vidais o chinês era apenas com os criados. Y Leng tornou-se loquaz, sem se exceder. Não parecia embaraçada, mas também não mostrava grande familiaridade com o dono da casa. Conversava mais com este, mas a cabeça volvia-se frequentemente para Hipólito, não o encarando de frente, mas com um ligeiro movimento, em que os olhos oblíquos desferiam lumes que iam envolvendo o rapaz. Não aceitara beber qualquer bebida alcoólica, recusara o cigarro. Limitou-se a tocar no chá, de que por sua vez se serviu.
Aquela era uma fase preliminar. Havia o decoro a cumprir, para manter o bom-tom. A moça não era uma prostituta qualquer das vielas. Era uma fina cortesã, umapei-pa-chai. Nem o menor gesto da Y Leng infringia a etiqueta, a revelar a sua profissão. Mas, nos seus ademanes, todos a denunciar consumada delicadeza, punha a nota sensual no ambiente, o que fazia com que aquela reunião, na sala fresca, não fosse puramente social.
Estiveram assim o tempo necessário para manter as aparências. O acanhamento de Hipólito era visível, mas nem por isso alguém se referiu a isso. Gonçalo, a certa altura, aproveitando um interregno, disse:
- Y Leng, o meu amigo tem muita coisa que conversar contigo que não quererá dizer à minha frente. Tu sabes onde levá-lo, que já passeaste a casa com a Siu Mei. Não desejo reter os dois aqui por mais tempo.
Ela assentiu, olhando de soslaio para Hipólito, num movimento característico da cabeça e ligeiro sorriso, onde ia o mistério dum convite. Botelho, então, disse, em português:
- Segue-a. Ela sabe do seu papel e não te preocupes. Não sairás da mão dela envergonhado ou frustrado. Têm ambos o tempo que quiserem. O quarto é vosso. Eu cá fico a aguardar a chegada da minha companheira. Não vou passar, com certeza, a tarde sozinho, enquanto tu caminhas para o paraíso.
Y Leng ergue-se, roçando os seus dedos, muito ao de leve, na palma da mão dele. Hipólito desejou acabar o resto do whisky, mas desistiu. Já não via o padrinho, nem sabia como andava ou se simplesmente tropeçava.
Quando teve a certeza de que outros olhos não os contemplavam, no meio da escada, Y Leng segurou-lhe na mão, conduzindo-o como se fosse uma criança. Os seus passinhos ondulando o corpo, abafados por sapatinhos de cetim verde, floridos de missangas, produziam um rumor sugestivo.
O quarto era para hóspedes, mas estava cheio de objectos pessoais de Botelho. Emprestavam ao aposento um aconchego de forma nenhuma de quarto de hotel despersonalizado e pronto apenas para uma função. O conforto da cama larga, bem cheirosa, de lençóis e almofadas frescos, era simpático e cúmplice. Pelas paredes espalhavam-se litogravuras de clássicos da Renascença, com apoteoses de corpos nus. Não era um quarto oriental, mas isto pouco interessou a Y Leng. Ela própria, com a sua presença e o seu gorjeio, transformava-o num íntimo ninho chinês.
Com a rapidez dum relâmpago, recordou-se doutra vez, quando penetrara no quarto da Cesaltina. Como tudo era diferente, como as duas mulheres eram diferentes. Cedo esqueceu todos os Padillas e o resto do mundo, para se concentrar naquela sedução pequenina que o obrigava a sentar-se na borda da cama.
- Estás tão suado. Tira o casaco, esta camisa. Como os homens podem andar de colarinhos tão duros. Eu morria se tivesse que suportá-los permanentemente.
Ela ajudou-o a tirar o casaco e a desabotoar-lhe o colarinho e a camisa, depondo estas peças de roupa, mais o laço da gravata, numa cadeira. O rosto pairava tão perto que lhe sentiu o perfume e o bafo perturbador. No lavabo do canto, ela embebeu de água uma toalha com que depois lhe limpou a cara e os braços para refrescá-los, enquanto conversava sempre, sem pressa nenhuma. Quanto pagaria o padrinho por ela ali estar, sem uma vez olhar para o relógio a tiquetaquear sobre o tampo da cómoda?
- Tens um nome bem complicado. Não sei pronunciá-lo. Ao teu amigo chamam-lhe o I Kó (Segundo Irmão Mais Velho). Chamar-te-ei Sám Kó (Terceiro Irmão Mais Velho). É mais fácil.
- Sám Kó... concordo, gosto dele.
Soltou-se-lhe o constrangimento. Ela ia avançando em intimidade, colando-se a ele, para se esquivar, em protestos risonhos, como se tivesse medo das carícias, contorcendo-se, como que tímida e pudica, para logo se encolher no peito dele, em cicios. Ia criando o ambiente, sem aparentemente forçar nada, incentivando-o a ser mais afoito, sem dar a perceber que era senhora da iniciativa. Acima de tudo, ele era o macho e era preciso que não perdesse, de forma alguma, esta noção ou esta ilusão, sendo ela apenas o elemento colaborante e passivo. Não interessava se ele era um amante ideal. Ela é que tinha de fazê-lo e convencê-lo de que o era.
Hipólito olvidou a realidade circundante, as horas e as pressões do mundo, como se vivesse em terras e latitudes completamente desligadas do local onde se encontrava. Só sentia uma verdade. É que estava a inebriar-se com um momento único, inefável e livre de todas as inibições. Era uma vertigem, uma embriaguez, como se pairasse nas nuvens, flutuando em paramos desconhecidos.
Vagamente, apercebeu-se de que estava nu. Como as mãos dela trabalhavam bem! E aqueles dedos afunilados e tão subtis que sabiam tocar, acarinhar, pressionar e cocegar. Só não estava muito afeita a beijos, mas aceitava que os lábios dele se colassem aos dela, porque era vontade do amante.
Ela pedia que não se precipitasse, que havia tempo para tudo e que se descontraísse, porque chegariam ao termo. Rogava-lhe, num balbucio todo lascivo, que tivesse pena dela, que não a fizesse doer, porque tinha tudo pequenino. E apalpava-o, gabando da dureza dos músculos e do resto, como se ele fosse um possante dono e senhor.
A certa altura compreendeu que já não tinha medo. Como tudo era natural e espontâneo! Como se deixara manietar por fantasmas, por pânicos humilhantes! Uma alegria selvagem cresceu nele, ao mesmo tempo que dominava aquele corpo meigo e envolvente. Surgiu o espasmo final, com a sensação de a ter penetrado fundamente, conservou-se sobre ela, na ânsia de prolongar a plenitude que atingira. Quando rolou para o lado, com um largo suspiro de saciedade, Y Leng abraçou-o quase comovida.
Ofertara o melhor de que fora capaz àquele homem tímido e educado e ele estava-lhe agradecido. Sabia-o pela expressão do rosto, pela respiração, pelos olhos e pela voz. E ela própria gostara.
Não se desprenderam um do outro, continuaram no idílio, gozando a companhia um do outro. Mais tarde, adormeceram abraçados, na paz duma hora feliz, embalados pela sinfonia da passarada. Acordou quando a sentiu escorregar da cama, com os cuidados de quem respeita o sono de outrem. Soergueu a cabeça e exclamou, desolado:
- Quê... Já te vais embora?
- Não... Estou encarregada do jantar. Fui incumbida disso. Dorme... Quando chegar a hora, chamo-te.
- Certo?
- Eu não sou tão má que me vá embora sem me despedir - e lavou-o com uma toalha quente.
Viu-a vestir-se, compor os cabelos, mas sem muita preocupação em pintar-se. Estava em casa, conhecia o seu «homem» e deixara a sua marca nele. Quando fechou mansamente a porta, Hipólito ficou numa deliciosa dormência. Do outro lado da parede vinham ecos de vozes conversando baixinho.
Antes de descer, Y Leng, vestiu-o duma cabaia comprida masculina, já de antemão posta por Gonçalo. Em baixo, o padrinho esperava-o, acompanhado doutra mulher, mais velha que Y Leng, alta e desempenada. O talhe do vestuário era o mesmo que o da Y Leng, mas de cor azul, a cabaia e as calças bordejadas de cor-de-rosa. Penteava-se também do mesmo modo, mas as feições eram muito mais correctas que as da mais nova. Tinham a mesma escola o mesmo estilo de maneiras. O amendoado dos olhos não era tão acentuado como o dos da Y Leng, nem na boca fulgia qualquer doirado. No entanto, se lhe dessem a escolher novamente, seria a Y Leng a preferida. Pela maneira como se movimentava, conhecedora dos cantos da casa, revelava uma grande intimidade com Gonçalo. Seria a mesma rapariga que descobrira ali, quando batera à porta do padrinho em busca de solução para a sua terrível cabeçada? Não se lembrava, nem ela mostrou reconhecê-lo. Foi-lhe apresentada pelo nome de Siu Mei. A comida fora confeccionada pelas duas mulheres. Quanto tudo aquilo custaria, não só o banquete, como a estada de cantadeiras, Hipólito não calculava. A generosidade do padrinho fora além de toda a expectativa. Nada poupara para que o afilhado reencontrasse o seu caminho, noutro transe da sua ainda breve vida.
- Então?
- Foi muito bom.
Estava feliz e declarou-o com toda a simplicidade, sem enleio. O pensamento divagava para as mulheres, que se movimentavam, dum lado para o outro, na preparação do jantar e a dispor a mesa de tigelas, pauzinhos e condimentos, tagarelando coisas e coisinhas entre elas. Na varanda alpendrada, estes sonidos eram repousantes, à mistura com a suave rebentação do mar, ao longe.
Depois, jantaram. Os pratos tinham sido dispostos na mesa. Os homens quase não se serviam. Eram as mulheres que perfaziam essa tarefa, escolhendo os bocados mais suculentos, que depositavam na tigela de cada um. Havia uma garoupa fresquíssima, camarões a sal e pimenta, perninhas de rã, porco picante, adocicado, borrachos assados, um conjunto de hortaliças embebido em molho de ostra e um caldo de peixe desfiado e cogumelos. Tudo estava delicioso, não só porque as iguarias eram saborosas, como a disposição era tão boa que supria qualquer falta, se a houvesse.
Pareciam dois casais, muito amorosos, com ternuras de quem se conhece há muito, numa harmonia de entendimento que só se pode atingir num estado pleno de felicidade. Hipólito, que jamais vivera momento semelhante, dava largas à exuberância.
Surpreendia-se consigo mesmo. Fora um rapaz retraído, ensimesmado, nunca palreiro e com gargalhada difícil. Mas ali revelava-se com uma nova personalidade, algo que sempre existira dentro de si, mas que só agora se abrira à superfície da pele. Julgara-se feito duma peça monolítica e eis que era outro. Quem não se mostrava admirado era o padrinho. O longo trato com os homens, de todos os estratos sociais, confirmava que cada alma era um poço de mistério. Nunca um homem era apenas aquilo que aparentava.
Terminado o jantar, regado de bom vinho chinês, as mulheres trouxeram toalhas perfumadas com que os homens limparam a cara, o pescoço e as mãos. Enquanto elas levantavam a mesa, eles dirigiram-se para um canto da varanda alpendrada, onde havia uma blandiciosa frescura. Botelho trouxe uma garrafa de cognac, que verteu, em doses perfeitas, para dois bojudos cálices, e ofereceu charutos.
- Nunca vivi um dia assim - insistiu Hipólito.
- Há dias que se gravam como marcos miliários nas nossas vidas. E são deles que resultam tremendas consequências futuras.
- Costumam elas visitá-lo com frequência?
- Sim, principalmente a Siu Mei, com quem tenho uma ligação de longa data. Às vezes reúno duas ou três e esta casa transforma-se num viveiro de mulheres. Distraem-me com os seus cânticos, a sua música e a sua conversa. Nada de orgias, como por aí se propala. Eu durmo apenas com a Siu Mei. Quando fumava ópio, era ela quem tinha o privilégio de me preparar a cachimbadela. Parei com isso há um ano, pois começava a viciar-me. Livrei-me a tempo, com um bocado de força de vontade. Sim, elas distraem-me. Como, doutro modo, iria afugentar a solidão? Não as julgues umas ignorantes. Siu Mei, por exemplo, é versada em porcelana chinesa e nas flores. A Y Leng é uma devota taoísta e conhece a fundo o ritual e o significado do culto. Na caligrafia dos caracteres chineses é uma artista.
Pairou um langor sensual na pausa que se seguiu. As mulheres, lá dentro, riam-se felizes, talvez por terem a impressão dum lar.
- Perguntar-me-ás por que não instalei a Siu Mei permanentemente nesta casa, já que sofro duma penosa solidão. É que cada um de nós tem o seu mundo e seríamos empecilho um para o outro se o tivéssemos que sacrificar para vivermos juntos... A profissão dela é entreter e agradar. Se vivêssemos juntos, ela não teria que perfazer esta função em primeiro lugar. Viriam à tona os defeitos, surgiria o choque de temperamentos. Perder-se-iam o encanto e a poesia dos encontros semanais ou mais espaçados. Gozamos dó dom duma ternura mútua, sem elos nem obrigações. O mesmo deve acontecer com Y Leng. Aceita-a tal como se apresenta, e não como, na realidade, é. O que ela te oferece é suficiente e nunca exijas mais.
A noite deslizava serenamente. As mulheres chamaram-nos para dentro, lamuriando o esquecimento a que estavam relegadas. Tinham renovado a pintura do rosto, composto os cabelos à perfeição, e o perfume de cada uma evolava-se pelo ar. Iam cantar, preenchendo uma actividade imprescindível, por serem cantadeiras.
Y Leng pegou no alaúde, Siu Mei em hastes finas de bambu, especialmente estilizadas, com que dedilhou o «piano de cordas», colocado à sua frente, numa mesa baixa, ambas sentadas em banquinhos. Hipólito nunca apreciara aqueles instrumentos e tipo de música, genuinamente do povo chinês, embora fosse nado e criado em Macau. Não o compreendia, pois os seus ouvidos tinham sido educados na música ocidental.
No ambiente da sala, que as mulheres tornavam tão chinês, os sons desprendidos dos instrumentos tinham uma beleza estranha. Convidavam à melancolia, trinavam como lamentos, evocando tristezas e amores dilacerados. Em seguida, cada uma das pei-pa-chais cantou, em voz falsete, com requebros e gestos estudados das mãos. As vozes atingiam notas altíssimas, com nuances e soluços. Para um auditório chinês, ambas seriam exímias. Quando terminaram, o alaúde plangeu solitário, num queixume nostálgico. Depois chegou a vez do «piano de cordas», onde as hastes de bambu voaram como borboletas enfeitiçadas. A concluir, gorjearam um dueto, Y Leng no papel dum escolar, Siu Mei representando a namorada, num adeus prevendo uma longa separação.
Os homens aplaudiram no fim, sinceramente entusiasmados com as qualidades artísticas de ambas. Para Hipólito fora uma experiência insólita. Gonçalo disse:
- É preciso habituares-te para apreciares melhor. Ambas tiveram um longo e doloroso aprendizado para terem este nível. São muito requeridas e por isso nos vão deixar, por outros compromissos. Aguardam-nas ali, no Sá Kóng, em casa de «china-rico». É a profissão.
Efectivamente, na porta do jardim paravam as cadeirinhas que as deviam levar. Hipólito ficou desolado. O regresso à realidade foi duro. Nunca mais veria Y Leng? Ela, porém, ao despedir-se, insistiu que esta não seria a última vez que se encontrariam. Prometeu.
- Não estejas com esse ar tristonho. Não é morte de homem.
Hei-de proporcionar-te a oportunidade de revê-la. Por hoje já basta de amor. Vamos dar uma volta até à Rampa dos Cavaleiros, se não tiveres medo do espectro da inglesa que aparece por aquelas bandas, e depois descemos até à Praia da Boa Vista, que a noite está linda.
Foram, trajados da mesma cabaia fina que usavam no jantar. Internaram-se pelo escuro da estrada, subiram a Rampa dos Cavaleiros, sem achar vivalma nem espectro algum, alumiados pela luz das estrelas. Retrocederam lentamente e pisaram a areia fina da praia, as águas do mar esparramando-se em brando marulho. Botelho, que conhecia o local, encaminhou-se para a sua rocha favorita e sentou-se. O sossego era absoluto, nenhum eco de voz humana os interrompia.
- É esta calma que me encanta. Nas noites de luar, a vista é fabulosa, as Nove Ilhas parecem flutuar por entre a poalha. Tudo muito diferente da Praia Grande. Passo aqui horas, deliciado, em meditação, em êxtase mesmo; quando a disposição favorece, nado.
- À noite?
- Por que não? É quando a água está melhor, fresca e revigorante. Não há ninguém a importunar-me. É assim que encho o meu tempo. Mulheres, leitura, caça, pesca e natação. De vez em quando, subo até o Ramal dos Mouros para uma partida de ténis com o grupo que lá frequenta. E escrevo também as minhas memórias, de que sou o único leitor.
Invejou tanto essa liberdade do padrinho que o peito lhe doeu. Bendisse a noite, que escondia a sua expressão de revolta por estar preso e manietado, sem o ensejo duma liberdade semelhante. Gonçalo Botelho, acendendo outro charuto, desfiou as suas recordações de Xangai, que descreveu com calor, pintando uma cidade fascinante. Nunca se referiu à falecida mulher, de quem, segundo se dizia, lhe adviera a fortuna. Era um assunto tabu que o afilhado não se atreveu a aflorar.
Após um interregno, desafiou-o a nadar, despindo a cabaia, ficando apenas com as cuecas. Mergulhou, numa corrida, na onda que avançava de encontro à praia, com um grito de guerra e, no meio da vaga suave, insistiu que o afilhado o imitasse. Hipólito hesitou. Tinha do mar um medo supersticioso, desde criança, e não sabia nadar. Os pais nunca o tinham encorajado na prática deste desporto, afirmando peremptoriamente que era demasiado franzino para suportar os malefícios da água salgada. Apenas imergira duas vezes, trajando um pesado fato de banho, todo fechado, uma vez na Praia de Cacilhas, no fundo do Ramal dos Mouros, e outra na Praia de Nossa Senhora da Esperança, na Taipa. Nos anos de casado nunca mais pensara nisso.
Agora, a tentação era muita. Despiu-se, embaraçado, sob a capa da escuridão, e avançou cautelosamente até meio joelho. Tropeçou e caiu de borco, experimentando na boca a salinidade da água. Berrou com o impacte da frialdade, mas não fugiu mais. Uma vez adaptado o corpo à temperatura, conservou-se mergulhado até o pescoço, todo deliciado. Tinha razão o padrinho. Àquela hora, a água era fresca, limpa e revigorante.
Que dia aquele, tão ímpar na sua existência monótona e estúpida! Amara, estivera na companhia depei-pa-chais e nadara, e de cuecas!
- Amanhã, de manhã, vamos pescar. Ensinar-te-ei a arte e será um pretexto muito bom para me visitares com frequência - disse o padrinho, com uma gargalhada.
Cesaltina engravidou. O alarido dos pais foi monumental. Pablo Padilla embebedou-se sem indagar como se dera a reviravolta no genro. Estava convencido de que as suas ameaças tinham surtido efeito, bem como os chás dos ervanários, que, de tempos a tempos, induzia Hipólito a ingerir. Sacudido das costadas de parabéns, mostrou o seu sorriso morno. Não podia confessar que só conseguira o feito com o pensamento concentrado na lembrança da Y Leng.
Cesaltina viveu uma fase feliz, rodeada de atenções e cuidados. Nenhum dos pais duvidou de que desta vez sairia um neto varão. O tratamento que davam à filha casada, em confronto com as outras duas solteiras, era simplesmente revoltante.
Hipólito, que as detestava, chegava a apiedar-se delas, transformadas em criadas da mais nova. Não intervinha, porém, em lembrança dos agravos passados. Cesaltina, na sua cegueira e egoísmo, contribuía para cavar o fosso cada vez maior entre ela e as irmãs, ressentidas desde o berço. Nesta fase, Hipólito gozou de paz, embora se alarmasse com a ideia de que a sorte lhe poderia pregar uma nova partida, ofertando mais uma filha, em vez do pimpolho ambicionado.
Outra razão havia para a felicidade de Cesaltina. Nunca perdera as esperanças de entrar na Rua Formosa, por maiores que fossem as decepções sofridas. Os Vidais não tinham neto varão para continuar a família. O aparecimento do primeiro amoleceria o coração dos avós e perdoariam o passado. Para Cesaltina, a filhaVictorina não contava, feia e trigueira, lembrando um ratinho. Era arisca e chorona, irritava toda a gente. Castigava-a muito, enxotava-a da sua presença, porque a enervava. Supersticiosa e ignorante, aquela mãe acreditava que, estando a filha perto, ela poderia afectar a beleza do nascituro.
Só o pai procurava minorar o isolamento da criança. Mas esta não correspondia. Frustrava-lhe todas as tentativas de ternura, teimosa na sua secura, indiferente aos carinhos. Refugiava-se de preferência no regaço da Celeste, que a adorava, que a consolava no seu choro, como uma verdadeira mãe. Ou então corria para um canto da cave, seu poiso favorito, entretendo-se horas a fio, no seu mundo infantil de bonecas de trapos, feitas pela «crioula», bonecas que ela estimava sobre todas as outras que lhe pudessem oferecer. Hipólito adivinhava por que Victorina não lhe tinha afecto. Não era o homem da casa que manda e impõe e todos lhe obedecem. Na sua inconsciência infantil, a filha infligia-lhe a cada passo uma humilhação.
Por isso, também isolado, não se esquecia da Y Leng. Por duas vezes mais se encontrou com ela na chácara do padrinho, mas não se arriscou a mais nenhuma aventura por aquelas bandas, quando Padilla lhe disse secamente que era conveniente evitar a casa de Botelho, pois era um ninho de mulheres perdidas e Cesaltina não havia de gostar se soubesse. Era uma prevenção e, partindo do homem violento, não era assunto para fazer ouvidos de mercador.
Assim decorreram meses, sem mais novidade, senão a crescente expectativa dum parto glorioso. O convencimento de que Cesaltina daria um varão era um facto seguro. Ninguém punha dúvidas. Não se agitava ele, lá dentro, com pontapés, evento que era acolhido pela mãe com expressões de desvanecimento, obrigando o marido, os pais e até, quando a alegria era demasiada, as próprias irmãs a colocar a mão sobre o ventre enorme e pesado?
- Até parece que vais ter um par de gémeos - afirmava Pablo Padilla, regougando a sua gargalhada obscena.
Quando as dores se anunciaram, foi chamada a parteira, mulher dum curandeiro e íntimo amigo de Padilla. Apesar da gritaria de Cesaltina, suarenta, os olhos arrancados, os cabelos desgrenhados, ululando que ia morrer, a parteira não se inquietou no mínimo. Não havia perigo, a mãe era forte e a criança sairia com facilidade e prontamente.
Cá fora urrava Padilla, escouceando a cada gemido da sua princesa. Parecia um touro encurralado, escarvando o solo por não entrar na arena. Parecia mais marido que o genro. Este, ora caído numa cadeira, ora encostando a testa no vidro da janela, mortificava-se para saber o resultado. Não por recear qualquer coisa com a mulher, mas por causa do sexo do rebento, cada vez mais próximo de explodir para a vida. Se nascesse uma rapariga, teria decerto a catana do sogro sobre ele e ir-se-ia a paz relativa que usufruíra nesses meses de gravidez da mulher.
Os ais de Cesaltina tornaram-se mais estridentes. Padilla pingava, a testa e as faces molhadas, balbuciando preces com a sinceridade dum adolescente.
- Já não falta muito... coitadinha.
Sobreveio um silêncio, depois mais berros e, distintamente, ecoaram vagidos de recém-nascido. Padilla deu um pulo, Hipólito acercou-se da porta, enquanto as cunhadas, proibidas de assistirem ao parto, não só por serem solteiras, mas também, segundo o pai, por serem azarentas, espreitavam por cima do ombro, ávidas de novidade. Entreabriu-se a porta e o rosto da avó apareceu radiante.
- É um rapaz... Um amorzinho!
O brado de Pablo Padilla estrondeou pela casa toda. Saltava e chorava, sem rebuço, girando sobre si mesmo, numa dança espontânea. Beliscou o rosto das filhas desprezadas - uma rara condescendência -, abraçou o genro, dando-lhe palmadas nas costas, esquecido da própria força, exclamando:
- Ah, valentão, hombre!
As lágrimas de Hipólito foram mal interpretadas. Não pranteava de emoção, mas de alívio. A sorte favorecera-o nesses últimos tempos e também não se lhe negara desta vez. Padilla tinha o neto que queria e ele, o pai, um certo prestígio. Agora ninguém podia acusá-lo de peso morto que só sabia comer e dormir. No meio da confusão agradeceu em pensamento a Y Leng, que abrira caminho àquele triunfo.
Como sempre, quando estava feliz, o «espanhol» apanhou outra bebedeira. Não parecia nada fatigado. Soltou a rolha duma garrafa de vinho do Porto há muito reservada, emborcou-a quase inteira e, depois, começou com misturas, tornando-se difícil. O genro aturou-o até quase o romper do dia e levou-o nos braços para a cama, onde vomitou. Caído de bruços no meio da porcaria, que a sogra limpava, já roncava o sono de brutos. Era nojento!
Pabro Padilla exigiu um baptizado de estalo. Revia-se no neto, descobria-lhe parecenças na fisionomia e dizia que lhe corria nas veias o seu próprio sangue estuante, no modo como movia os olhos, os braços e as pernas, e no modo de chorar, forte, rezingão e dominador. O íntimo desgosto era que não pudesse usar o apelido final de Padilla, o único adequado para o neto. Escolheu o nome completo, sem mesmo consultar o genro. Paulo Lourenço Padilla Vidal, esquecendo, como aziago, o nome de Victor.
Convidou meio mundo: na lista também figuravam os Vidais. Não desistia o «espanhol» nem a filha de obter a reconciliação. Agora com um neto, um varão, não havia justificação para ódios nem rancores. Aquele menino dum mês era a garantia da continuação da família. E os Vidais ainda não tinham netos.
Hipólito, ao contrário de sempre, resistiu. Disse que ainda estava ferido por nenhum dos parentes ter dado a graça da sua presença no baptizado de Victorina. Era capaz de olvidar que não lhe ligassem nenhuma, mas não o insulto infligido à filha. Tudo isto afirmou em voz mansa mas firme.
- Os meus pais e irmãos votaram-me a mim e à minha família ao desprezo. Estou morto para eles. Não vou arriscar-me a uma nova humilhação.
O sogro zangou-se, a mulher pranteou, mas encontraram em Hipólito uma teimosia inabalável. Padilla, enfurecido, não hesitou. Mandou o convite de qualquer forma, gostasse ou não o genro. Aquele neto era mais um filho seu e sua vergôntea do que do próprio pai. Nas afirmações encolerizadas que proferia, sem medir o alcance delas, havia qualquer coisa de incestuoso.
O baptizado foi de arrebenta. Como o genro nada tinha de seu senão o magro vencimento, Padilla pagou tudo, relegando para o lado a sua sovinice. Onde ele ia desencantar o dinheiro para as despesas era um segredo que ninguém da família conseguia desvendar. Gritava que era preciso dar um começo auspicioso àquele neto querido e ali estava o «chá-gordo».
Os Vidais, porém, não compareceram. Replicaram com nova afronta, brilhando pela ausência. Hipólito suportou bem, porque já esperava. Não podia compreender a estupidez e estultícia dos pais e irmãos, em guardar a dureza, sem perdão. Isto só tinha como resultado uma distância maior e insuperável entre o filho votado ao ostracismo e o resto dos Vidais.
Até quase no fim do chá, os Padillas aguardavam, espreitando amiúde a rua, a chegada doutra família, mas tiveram de curvar-se à evidência. O desdém atingira-os rudemente. Quando o último convidado desapareceu à volta da estrada, a máscara caiu. O «espanhol» explodiu numa raiva incontrolada e insana, a filha num pranto histérico, acompanhada pelo coro das outras mulheres. Como necessitassem dum bode expiatório, incidiram a sua raiva sobre Hipólito. fora ele o culpado. Se tivesse ido pessoalmente, com o convite na mãoo não teriam essa coragem, esse desplante. Mas, em vez disso, Escolhera não mexer uma palha, escarranchado numa cadeira, entretido a comer e a beber.
Padilla excedeu-se em grosseria e só cortou os brados quando o Leófito, assustado com o vozeirão, se pôs a chorar e a espernear. Hipólito, sem pinta de sangue, tinha o ar de quem apanhara vassouradas infamantes. Como sempre, não reagiu. A mágoa que o tolhia era a ausência de Gonçalo Botelho, embora tivesse agradecido uma carta amável e enviado um lindo presente. Também este nada [queria com os Padillas. Só avaliou o grau de degradação a que escorregara quando viu os olhos da filha pequenina a mirá-lo com hostilidade.
Decorreram anos, Paulinho, à medida que medrava, tornou-se o enlevo da casa. Ao contrário da irmã, era adorado por todos, incluindo as tias, secas e hirsutas, que até então não pareciam possuir nenhuma capacidade para amar.
A criança era realmente engraçada, gordinha, viva, cheia de refegos, azougada. Durante o primeiro ano, Cesaltina, que tão relutantemente aleitara a Victorina, não permitira que outrem a substituísse com Paulinho. Era o seu menino bonito, aliás o menino bonito de todos. Cada gesto, cada balbuciar, cada menear de bracitos e perninhas, eram acolhidos como sinais de inteligência promissora.
O avô cobria-o de brinquedos, muitos deles acima da sua idade. Hipólito babava-se, sentindo-se consolado. Logo que vinha para casa, fazia-lhe negaças, a contemplá-lo embevecido. E as mulheres da casa traziam-no ao colo constantemente, habituando-o mal. Fossem dizer-lhes que o tornavam assim malcriado, que elas replicariam com palavras azedas, todas ofendidas.
Em tudo isto só havia uma figura patética. Era Victorina, tão sem graça e feiona que ninguém perdia tempo com ela, a não ser a «crioula». Cedo teve a intuição precoce de que era dispensável, um empecilho a atravancar o caminho dos adultos. Silenciosa e retraída, refugiava-se no seu mundo de bonecas de trapo, onde reinava e havia a segurança de que ninguém a molestaria.
A mãe e as tias sovavam-na muito, atribuindo-lhe tendência para a maldade, que estava apenas na imaginação. Por isso, Victorina crescia isolada, sentindo as diferenças de tratamento, acostumada a ouvir chamá-la de «pretinha» e de «ratinho». O irmão é que era o bonito, o branquinho, a esperança dos mais velhos. Ela, a serigaita, uma boca a mais para sustentar.
No entanto, se observassem melhor, veriam quanto ela amava o avô. Este não fazia caso dela, não tinha mimos para a criança, nem perdia o seu tempo com ela. Mas Victorina admirava-o. Como era o dono da casa, o dominador, nutria por ele uma devoção tocante. Era como o cãozinho que, quanto mais desprezado, mais se agarra ao senhor. Corria sempre para lhe abrir a porta, trazia-lhe as chinelas e ia guardar os sapatos e não resistia em mostrar-lhe timidamente os desenhos que traçava, Padilla não reparava em nada. Aceitava as pequenas demonstrações de afecto com total indiferença e enxotava a neta. Curiosamente, não procedia assim com o pai. Aos seus olhos infantis, ele não representava nada. Sem o saber, era o melhor juiz duma realidade.
Aos seis anos, Victorina caiu enferma, com um fortíssimo ataque de lombrigas. Esteve muito mal, mas arribou. As consequências, porém, foram deploráveis. Ficou pele e osso e estrábica do olho direito. Não se lhe tentou curar o defeito porque não era a criança favorita.
Hipólito curtiu um profundo desgosto. Estimava, é certo, mais o filho, pois Victorina fechava-se diante dele, inóspita e intratável. Mas era a sua filha. Com o estrabismo e a magreza enfezada, teria poucas probabilidades futuras e transformar-se-ia no perfil agudo das tias, seguindo inevitavelmente um idêntico caminho.
A única maneira de obter o carinho da sua filha seria mudar para outra casa. Obstáculos, contudo, eriçavam-se à sua volta. Continuava a ganhar mal, cumpridor no serviço, mas arrumado para trás nas promoções, por falta de incentivo e vontade para voos mais largos. Por outro lado, Cesaltina mantinha-se renitente em não deixar o lar dos pais, onde se deleitava com uma situação privilegiada. Como também separar o neto querido dos avós?
A existência de Hipólito Vidal era, portanto, a dum homem triste, sem ondas nem novidades, sempre dum atroz monocórdio. A sua personalidade apagara-se tanto que era confundido com os Padillas, arrastado na fama deles. A sua opinião não contava. Era apenas um homem inofensivo e bom, segundo a opinião geral. Poucos se lembravam dele como o aluno brilhante do Seminário que fora a grande esperança da família, apontado como um exemplo a seguir. Hoje pairava em torno dele o ridículo de ser um «pai mandado», ao sabor da vontade dos sogros, da mulher e das cunhadas, uma criatura que só se desembaraçava quando não dessem por ele. Não falava. Parecia sempre distraído, alheio às discussões. Dantes encolhia-se diante de estranhos, enervado com os excessos e palavrões do sogro. Agora nem isso o arrebitava.
Não tinha amigos nem procurava cultivá-los. Quanto ao padrinho, distanciara-se outra vez dele, votando-lhe uma ingrata frieza desde o baptizado do filho. Apenas no Natal ia cumprimentá-lo, sem nunca tentar ir mais além.
- Este Vidal. Está à nossa frente e é como se não estivesse. Que inércia!
De repente, uma luz alumiou o cinzento dos seus dias. Reencontrou a Y Leng quando ela fora à Câmara renovar a sua licença de cantadeira. Estava mais bela, os caninos mais doirados e mais sensuais, a vozita gorjeante, que o despertou da sonolência. Conversaram. Ela indicou-lhe a morada, num pátio discreto que desembocava na Rua da Alfândega, os dias da semana e as horas da tarde em que estava livre. Tinha muito gosto que a visitasse.
Um dia arriscou-se, mentiu no serviço que estava doente, saiu mais cedo e bateu à porta duma casa amarela. Ninguém conhecido o surpreendeu e, se o surpreendessem, quem iria desconfiar desse homem pacífico, mal vestido e manso? Y Leng acolheu-o, deu-lhe a ternura de que necessitava, recusou-lhe o pouco dinheiro que lhe ofereceu embaraçadíssimo, dizendo, quase ofendida, que não estava a preencher uma hora do ofício. Estranhamente, simpatizara com o rapaz, depois que Botelho lhe contara o seu desespero. Era tão educado, tão carinhoso que chegava a comover aquela mulher, batida duramente pelos factos da vida.
Desde então teve Hipólito uma dupla vida. Dum lado, a de marido exemplar, submisso e obediente, que semanalmente, aos sábados, cumpria os seus deveres conjugais, e doutro lado, de quinze em quinze dias ou mais, a de amante risonho e impetuoso, excitado pelo risco da aventura, saboreando o deleite de enganar o mundo. Não trocava por nada aquelas horas de paz e de felicidade que o ajudavam a minorar a chateza dos seus dias.
Algo também acontecera, entretanto, com Pablo Padilla. Em casa continuava violento e truculento, mas a disposição melhorara, olhando o mundo com menos ressentimento. O aparecimento do neto injectara-lhe uma renovada vitalidade e um resplandecente optimismo. Na rua caminhava com o mesmo passo de ferrabrás, mas distribuía sorrisos.
Cerca dum ano após o nascimento do neto, acreditando que estava bafejado por ventos propícios, encetou uma nova profissão, a de curandeiro. O longo aprendizado com os ervanários e os praticantes da medicina tradicional chinesa, seus amigos dilectos, entre os quais se sentia estranhamente à vontade e discípulo atento e estudioso, impeliu-o a esse passo atrevido.
Nutria por essa medicina uma admiração absoluta. Que é que o restabelecera quando estivera internado no Hospital de S. Rafael? Não foram certamente os remédios e a dieta prescritos pelo clínico, mas sim os chás de curandeiros, secretamente levados pela mulher.
Assim fortalecido, passou desde então a ter uma saúde de ferro, facto que mais alicerçou o seu convencimento. Era o médico da família. Conhecia todas as mezinhas caseiras, para isto e para aquilo, e debruçava-se sobre a farmacopeia chinesa, ávido de aprofundar a sabedoria. O certo é que em casa, durante muitos anos, ninguém andara enfermo de doença grave. Um dos exemplos que apontava com arrogância era o Hipólito. Quando solteiro, era um pálido menino, encafuado em grossa roupa, mesmo no Verão, com os pulmões afectados. Agora estava vermelhusco, engordara e a febre fora-se definitivamente. O neto desenvolvera-se com caldos de ervas e algas fortificantes. E o caso das lombrigas da neta jamais se daria, afirmava doutoralmente, se o tivesse descoberto a tempo. Com desplante, troçava dos médicos encartados pela universidade nacional, que, no dizer dele, só serviam «para matar gente e ganhar dinheiro».
Antes do nascimento do neto limitara a sua actividade à gente da casa e da família da mulher. Depois chegou a vez dos poucos amigos que os Padillas possuíam. Agora, com o neto a medrar, incutindo-lhe a alegria de viver e confiança, começou afoitamente a receber estranhos, cobrando honorários.
Não requereu licença nem pôs tabuleta à porta. Mas as pessoas sabiam quem ele era, consultavam-no. Examinava os doentes, diagnosticava e receitava. Ele próprio preparava as mezinhas ou, então, indicava como adquiri-las nas boticas e drogarias chinesas. Este desafio às autoridades sanitárias só se compreendia numa época e num território em que a maioria esmagadora da população recorria a curandeiros, de preferência à medicina ocidental, de que desconfiavam e descriam. O corpo médico do Hospital do Governo, sito no belo edifício recentemente inaugurado, no alto da colina de S. Januário, e do Hospital de S. Rafael encontrava pela frente uma barreira, quase intransponível, de ignorância, superstição e dúvida, difíceis de vencer, embora lutasse pertinazmente para ganhar reconhecimento. Não era de espantar que curandeiros e ervanários proliferassem, portanto, como senhores do terreno, à mistura com muito charlatão. Charlatão não era, com certeza, Pablo Padilla. Levava muito a sério a profissão e dignificava-a. Era um perito em doenças de; pele. Fez curas de impigens e eczemas crónicos, furunculoses e acnes. Tinha pós, unguentos, infusões, cozeduras e hóstias, que limpavam o sangue e a pele de todas as mazelas. Tinha um chá para a asma e outro para os rins. Guardava com orgulho uma colecção de recipientes contendo afrodisíacos, que vendia a peso de ouro. Raspando um enorme corno de rinoceronte e chifres de veado, os pedacitos, reduzidos a pó, curavam a impotência de velhos faunos. Gabava-se, sem rebuço, da sua competência. Por sorte ou por verdadeira ciência, nunca ninguém se queixou da sua prática. Se às vezes falhava, sabia safar-se airosamente, com o seu vozeirão convincente. Se não atinava com a cura nem com o diagnóstico, tinha a honestidade de dizer:
- A medicina é um ramo muito vasto. Uma pessoa não pode saber tudo. Isto é um caso para especialistas. Eu sou apenas da clínica geral.
A fama de Pablo Padilla fincou definitivamente quando um amigo apareceu com uma blenorragia de «se tirar o chapéu». O tratamento que impôs foi dolorosíssimo, mas sarou o infeliz. Este, ressuscitado, disseminou em panegíricos a sua perícia.
O nome de Padilla fincou definitivamente. Quando alguém era atacado por uma doença venérea, dizia-se logo:
- Vai ao Padilla. Ele livra-te da camoeca e põe-te rijo, como uma peça nova.
Então, vieram procurá-lo os meninos ricos da cidade, que queriam esconder a vergonha. Pablo Padilla tirou a sua vingança. Escarnecia deles, ironizava-lhes a desgraça, flagelava-os com piadas grosseiras. Tinham-no desprezado há tanto tempo, mas agora, na infelicidade, vinham pedinchões, pálidos, curvados de sofrimento, com sorrisos embaraçados ou lágrimas de aflição. Padilla começava sempre por se recusar, a lembrar-lhes agravos dos pais e deles mesmos, rebaixava-os quando lhes via o ódio no fundo dos olhos, mas a submissão na ponta da língua. Depois de vexá-los, concedia-lhes o tratamento. Exigia bom dinheiro, levava couro e cabelo, com um sorriso superior e sardónico. Era pegar ou largar. Pegavam, porque, a despeito de tudo, confiavam nele. Então, usando a bata branca, na pequena casa de madeira que mandara construir nas traseiras do quintal, iniciava os tratos.
Arrancava dos doentes gritos atrozes, ficando célebre o seu murro de «mata-cavalos». Mas o certo é que curava. Tinha pós, pomadas beberagens milagreiras para o efeito. Guardava sigilo de todos esses tratamentos porque sentia a dignidade da profissão. Proibira à família de dar à língua, sob pena de lhe rebentar as costelas à paulada. As [duas filhas mais velhas, a quem ele especialmente prevenia, lançavam secretamente os nomes num canhenho e as respectivas datas das consultas, excitadas com os urros de sofrimento. Diziam uma para a outra:
- Isto é para nos servir mais tarde.
E Um dia, o «espanhol» quis fazer do genro seu ajudante. Relutantemente, aceitou, mas desistiu logo à primeira experiência. O enfermo era um «menino» da Praia Grande que morava para os liados do Chunambeiro, numa quintarola opulenta. Hipólito conhecia-o muito bem e à família. Habitualmente arrogante, sempre armado de pingalim, tivera a ousadia de passar por ele vezes sem conta sem |se dignar ao mais pequeno cumprimento depois do «escândalo». Costumava passear, pelas tardes, na Praia Grande, de cima para baixo |e vice-versa, montado num belo cavalo preto, para derriçar as meninas, que pousavam à janela ou iam e vinham de cadeirinha. Tinha a pecha de vestir-se à Príncipe de Gales, o que era ridículo, porque não tinha nem o aprumo nem a gordura reais. Pelo contrário, era •macerado e com escrófulas.
Ao apresentar-se no «consultório» de Padilla, transportado em [cadeirinha fechada e acompanhado dum amigo, vinha trôpego, mal seguro das pernas, a cara torcida de dores. Com lágrimas nos olhos, destituído de prosápias, era mesmo um farrapo. Contou uma história confusa de loucas rapaziadas e orgia em Cantão. Quando regressou, já não vinha muito composto, mas não ligou. Depois, tentou [tratar-se por si mesmo. Piorou e não pôde ocultar aos pais devotos. [Porém, havia pior. Se a família dele lhe podia perdoar, não lhe perdoaria a noiva rica e voluntariosa. Era uma calamidade, pois o casanento estava apalavrado para daí a dois meses. Por isso, encontrava-se ali para que Padilla o salvasse.
- Então por que não recorreu aos doutores de Coimbra, ombre?
- Não queria que ninguém soubesse... E o Sr. Padilla tem a prática... sabe...
- Ah, para isto sabem pedir a Pablo Padilla, sabem conhecê-lo. Para outras coisas fogem como dum escarro...
- Não é bem assim, Sr. Padilla.
O «espanhol» explodiu em vociferações, trazendo à tona antiquíssimos ressentimentos. O menino apanhou a sarabanda que há muito merecia, mas aguentou humilde, porque não tinha outra solução, mesmo quando lhe rebaixou a aristocracia da família. Como sempre, depois de saciada a sua vindicta, exigiu um preço chorudo, que o rapaz, dobrado de sofrimento, aceitou sem hesitação.
Hipólito, condoído, apesar de tudo, com o infeliz, tentou atamancar o vexame, mas o olhar feroz do sogro conteve-o. Assistiu, com suores frios, ao desnudar da parte inferior do corpo. O que viu foi tão imensamente obsceno e revoltante que recuou, ao mesmo tempo que escutava a gargalhadinha malévola de Padilla.
- Que beleza de repolho! Que cores tão vistosas e artísticas! Está mesmo em ponto de rebuçado, hombre!
Virou-se o estômago de Hipólito. Saiu porta fora e vomitou sobre o canteiro de rosas, perante os olhos arregalados das cunhadas, que se tinham colocado à espreita. Quando os urros começaram, fugiu para a rua, onde se sentou numa pedra do caminho, até que a cadeirinha se afastou. Aguardou pela recepção dura do sogro, mas este apenas troçara da sua fraqueza. Estava satisfeito por ter tirado a desforra, fazendo sofrer mais do que o necessário. Dizia estas barbaridades, tilintando as pratas mexicanas dos honorários.
A fama de Padilla progrediu com a cura do mancebo. Foi ao seu casamento e teve a deleitosa recompensa de estar lado a lado com os Vidais, no mesmo plano de igualdade. Gozou então a fase mais feliz da sua vida. Não entrou na intimidade das grandes famílias, mas passaram a cumprimentá-lo, com o respeito devido a um médico verdadeiro. É que nunca se sabia se teriam algum dia de recorrer aos seus serviços.
Durante anos, Victorina mal teve a noção de que era estrábica, embora a estupidez e a indiferença dos mais velhos se referissem amiudadamente ao defeito. Só quando foi à escola, já atrasada em idade, é que o problema se pôs com toda a crueldade. As colegas tinham-na cercado, numa roda, a gritar-lhe a palavra «zarolha». A princípio, não atinou com o significado, mas terminou por compreender. Foi para casa a chorar e, pela primeira vez, descortinou a realidade de que era diferente das outras.
Uma das tias, brutalmente, exclamou, com um encolher de ombros:
- Para que choras, se és mesmo...
Sofreu. O que sofreu só Deus o saberia. Não era faladora, não costumava expandir-se, no seu hábito de isolar-se. Retraiu-se mais ainda, incapaz de comunicar até com a «crioula» e muito menos com o pai. Só tinha olhos para o avô, que, no entanto, lhe retribuía com chocante alheamento.
Apesar do desânimo, Hipólito não quis descurar a educação da filha. No meio do inferno que era a casa dos Padillas, Victorina acabaria por imitar as tias, a mãe e os avós. Tomou uma decisão. Dentro dos limites do que era possível, ela tinha direito a melhores oportunidades, e não somente o Paulinho. Resolveu enviá-la para o Colégio de Santa Rosa de Lima, grande escola de educação feminina, cuja fama se estendia até Xangai. Era caro, mas compensador o dinheiro despendido. Encontrou oposição na mulher e nas cunhadas. O sogro replicou-lhe que não desapertaria o bolso para luxos desnecessários. Hipólito replicou, com simplicidade:
- Não vai pesar a ninguém. O advogado Dr. Romano Tovar propôs-me que fosse trabalhar para ele depois do serviço na Câmara.
São apenas duas horas. Com o que me paga, terei o dinheiro para Victorina.
A sua teimosia, mansa mas determinada, venceu, por cansaço, a mulher e os outros. Victorina foi internada no colégio e misturou-se com as mocitas das melhores famílias macaenses. O estrabismo persistiu em inferiorizá-la, mas, ao menos, no ambiente de boa educação, ninguém a molestava por causa disso abertamente. Aprendeu inglês, francês, além do português, cultura geral, lavores e boas maneiras. As madres gostavam dela, não era nada a criança difícil que lhes tinham descrito, pelo contrário, transplantada para um outro meio, revelou um carácter que seria surpresa para a família, se fosse mais atenta. Como os Padillas não pagavam, não havia a preocupação de avaliar se aproveitava ou não. Só Hipólito acompanhava a evolução, embora a filha, quando estava em casa, mostrasse a sua caderneta de classificação, primeiro que a ninguém, ao avô.
Hipólito ainda foi mais longe. Insistiu, para uma mais completa educação, que aprendesse música, exactamente como todas as meninas da «fina flor». Queria que Victorina fosse uma menina prendada, com os mesmos requintes, no mesmo nível que as outras, para compensar o que lhe faltava em dotes físicos. Se praticara muitos erros, este não o era, com certeza. A consciência dizia-lhe que procedera por bom caminho, proporcionando à filha defesas, no futuro, para uma vida menos estéril.
Aqueles anos de escola foram decisivos. Em casa, Victorina era uma rapariguita silenciosa, preferindo o isolamento, ciente da injustiça que lhe infligia uma família toda devotada ao irmão mais novo. Mas no colégio transformava-se. Sabia sorrir e conversar, tinha amigas e dava largas à sua natureza terna. Nisto saía ao pai. Afastada a tempo do lar do «espanhol», onde a grosseria e a gritaria eram uma constante, ficou imune. O que levava do colégio para casa resguardava-a o suficiente para contrabalançar o que havia de pernicioso no contacto com os Padillas e a sua mentalidade. No ambiente gentil do colégio, em que as madres exigiam o culto de boas maneiras e a delicadeza no trato, Victorina progrediu imenso. Não ouvia, a cada passo, que era feia e trigueira, como se isso fosse um pecado, nem era a «pisca», pelo menos na roda das amigas. Se não demonstrava ter a inteligência brilhante do pai, captava bem as lições, era uma das melhores no aproveitamento e, porque ensinava sem egoísmos as outras, tornara-se popular. Ali não era a pequena Padilla, mas Victorina Vidal, com certo prestígio, vindo da família do pai. Era embaraçoso admitir que não conhecia os avós e os tios paternos, nem as primitas que nasceram do casamento do único irmão do pai. Mas isto, no meio da escola, não tinha a mínima importância.
Ninguém a batia nos lavores e na aula de Desenho. Tinha gosto e os seus trabalhos eram admirados e elogiados. Também se distinguia ao piano, onde revelava uma verdadeira inclinação artística. Assim, Victorina recebeu e aproveitou o que melhor se podia oferecer, no campo de educação, a uma moça em Macau. Esta foi a sua salvação, afinal aquilo a que o pai, acima de tudo, aspirara.
Já quase a orçar pelos dezasseis anos, sucedeu uma grande desgraça, que golpeou a família Padilla. Paulo, o menino mimado, que começara a imitar o avô na truculência e no mau génio, adoeceu gravemente de tifo, doença vulgaríssima na época e de que só por sorte se escapava.
Aquele rapazito enchia a casa toda. Desde manhã até à noite, ecoavam o seu infatigável tagarelar, as suas correrias e diabruras. Com a educação manifestamente má, deixara há muito de ser o garoto encantador da infância. Aos dez anos já tinha uma fisga, ia aos ninhos na Mata da Guia e trucidava todo e qualquer passarinho inocente que estivesse ao seu alcance. Os ralhos não produziam o menor efeito, porque sabia que nunca era castigado. Todos se empenhavam em desculpar as suas pequenas malandrices, atribuindo que eram fruto da idade. Não respeitava o pai, a quem replicava com insolência, porque não era ele quem mandava. Só o avô o podia conter, mas, em vez de corrigir, malcriava-o, fazendo vista grossa. Paulinho obtinha tudo dos mais velhos, o príncipe por excelência da casa, um pequeno tirano que moía até fatigar. E era pena, porque denunciava uma viva inteligência, uma graça espontânea quando estava bem disposto e não aparecia rezingão e implicativo.
Logo que adoeceu, a casa inteira mergulhou num silêncio sepulcral. Andava-se em bico dos pés, ciciava-se baixinho, queimavam-se velas, as mulheres iam e vinham da Igreja de Santo António, a implorar a intervenção do santo milagreiro. Havia em todos os rostos a apreensão crescente, porque o rapazito não dava indícios de melhoras. Ia definhando aos poucos, com ar sofredor, voltando a ser o menino terno da infância, com os olhos suplicantes, a rogar o retorno à saúde.
A princípio, Padilla não consentiu que ninguém se intrometesse no tratamento. Ele encarregar-se-ia de pôr o neto fino. As mezinhas, porém, foram falhando, enquanto a doença, pertinaz, ia avançando. Declarada a sua impotência de debelá-la, reuniu os curandeiros amigos, que examinaram o doentinho e receitaram chás e outros remédios. Em vão. Hipólito, que nunca acreditara na medicina dos curandeiros, pediu um clínico da medicina ocidental. O sogro retorquiu-lhe duramente, mas, como o estado de Paulo se agravava de dia para dia, acabou por aceder.
O médico convocado veio e declarou, peremptoriamente, que não havia muitas esperanças. Não conhecendo a situação da casa, reverberou Hipólito por ter confiado em charlatães. Paulo foi internado, em estado desesperado, no Hospital de S. Rafael, mas pouco mais havia a fazer. Às seis horas duma tarde radiosa de sol, morria. E com ele as esperanças de Padilla, que queria o neto à sua imagem, a vergôntea que perpetuaria o ramo primogénito dos Vidais.
O alarido das mulheres excedeu o choro das carpideiras em ritos fúnebres. Houve explosões de desespero, Cesaltina desmaiou. Padilla acusou, espumando, o médico de assassino e o genro de seu cúmplice. Se tivesse deixado o Paulinho no tratamento dos curandeiros, ainda estaria vivo. O enterro foi lancinante, porque é sempre triste enterrar uma criança que em vida fora exuberante, sobre a qual se acalentavam tantas certezas dum futuro promissor.
O vácuo daquela perda irremediável amargurou para o resto dos dias aquela família violenta. Nunca mais foram os mesmos. Pablo Padilla estoirava em cóleras insanas ou escarranchava-se na cadeira, numa paralisante prostração. Envelhecera, mal falava ao genro. Os seus olhos tinham lumes homicidas, teimando em atribuir-lhe a culpa e ao «pulha do médico». Espancava ferozmente a mulher e as filhas mais velhas e abraçava-se soluçando à Cesaltina. A casa era um inferno de quezílias, os temperamentos à flor da pele, as mulheres questionando-se e todas conluiadas com o «espanhol» para transformarem Hipólito no bode expiatório.
Se, ao menos, Cesaltina pudesse ter mais filhos. Depois do nascimento de Paulo, evitara engravidar de novo, tomando filtros e beberagens que o pai lhe indicava, para não estragar a esbelteza, horrorizada com a gordura que se acumulava em certas partes do corpo, embora não fosse coisa de muita monta. Tinha pretensões à elegância e sofrera com a perda da cinturinha e com a grossura das pernas e braços, que a deformavam, segundo a sua imaginação.
Agora era tarde de mais. O abuso dos filtros e beberagens tinha, segundo os entendidos, ressequido o seu ventre. Depois, a insensata acusação de que o marido era o responsável pela morte do filho cavara um fosso enorme entre ambos. Negava-se, com insultos e ostensiva aversão, a compartilhar da mesma cama com Hipólito, sem ao menos avaliar que este até lhe agradecia, por ter perdido todo o interesse sexual por ela.
O desaparecimento de Paulinho devastara-a. Falava continuamente nele, não permitia que removessem nada do seu quarto, como se estivesse convencida de que, mantendo tudo igual, ele pudesse retornar. Dizia, com ar misterioso e doentio, que o ouvia andar, mexer nas roupas e nos brinquedos, e que ainda estava presente, a reinar em casa.
Restava apenas Victorina. Mas esta não tinha o afecto dos Padillas e não podia substituir o morto nos corações alanceados pela dor. As tias não tiveram hesitação nenhuma em declarar que houvera uma grande injustiça. Em vez do menino, por que não teria sido ela a morrer, que não fazia falta. Se os avós e a mãe não manifestaram tal desplante, nem por isso protestaram contra aquelas infames palavras. Victorina, chamada do colégio para assistir aos últimos dias do irmão, apercebera-se nitidamente de que, se fosse dado à família o direito de escolher, ninguém hesitaria em indicá-la a ela para o sacrifício. Recolheu-se o mais depressa possível ao colégio, para que sobre ela não recaísse a raiva da iniquidade sentida pelos seus.
Réprobo naquele lar de loucos, Hipólito acarinhou a ideia de abandoná-lo, montando casa nova com a mulher e a filha. Mas, ao aventar isso, timidamente, à Cesaltina, esta gritou, foi queixar-se ao pai, que investiu contra o genro de catana em riste e tê-lo-ia ferido se a mulher não intercedesse a tempo de evitar uma tragédia. Então, encarou a possibilidade duma fuga, como caminho da sua própria salvação. Mas não podia deixar para trás, cinicamente, Victorina. Enquanto a filha precisasse dele, e precisava certamente, embora não o avaliasse, não podia concretizá-la. Teria de aguentar até um dia que havia de vir.
De repente, surgiu a proposta do Dr. Tovar. Em vez de trabalhar fora das horas de serviço, por que não ficar no escritório a todo o tempo? Reflectiu e pela terceira vez recorreu aos conselhos do padrinho.
Como sempre, Gonçalo Botelho recebeu-o de braços abertos, censurou-o dos longos anos de deserção e compartilhou da mesma dor da perda de Paulinho. Animou-o a aceitar a proposta do advogado, uma vez que estava farto do emprego estéril da Câmara, onde não passava dum rotineiro «manga-de-alpaca», com tarefas sempre iguais, sem alteração nem novidade, com muitas horas de lazer para contemplar as tábuas do soalho ou o número de vidros da janela projectada para o largo sossegado e provinciano.
Assentiu, sem consultar mais ninguém, e demitiu-se da Câmara perante o espanto de todos. Em casa enfrentou a cólera de Cesaltina, mas dissipou-a imediatamente quando lhe afirmou que ganharia ainda mais com o vencimento e as gratificações dos clientes do advogado. E deixaram-no em paz.
Dando o seu valioso contributo ao advogado no variado e interessante trabalho do escritório forense, distraiu-se. A sua inteligência, entorpecida durante tantos anos, acordou finalmente. De dia para dia foi-se modificando, embora pouco ou nada transparecesse no seu rosto, ganhando confiança nas suas próprias qualidades. Sentiu que podia suportar com mais coragem a prisão dos Padillas. Com mais dinheiro nas algibeiras, continuou com a sua vida secreta, já não com a Y Leng, que partira para Siu Lam, casada com um abastado lavrador, depois duma despedida de lágrimas, mas com outra ou outras da «casa amarela».
Quanto à família dos pais, o seu endurecimento fora definitivo. Nenhum dos membros comparecera ao enterro do Paulinho e esse desprezo excedera tudo o mais, como não convidá-lo para o casamento do irmão mais novo anos atrás. Não era ele que morrera para a família, era essa família da Rua Formosa que morrera para ele. Nunca mais lhes perdoaria.
O tempo desfolhou inexorável e um ano depois, se o morto não fora esquecido, pelo menos os vivos tinham-se habituado à dor.
Pablo Padilla, para colmatar a sua amargura, dedicou-se com mais vontade ao seu consultório de curandeiro, tendo a satisfação de ser aceite até pelos Chineses. O seu murro de «mata-cavalos» mantinha-se famoso e não lhe escasseavam desgraçados que recorriam ao brutal mas eficiente tratamento.
Incongruentemente, com o seu desgosto, comia e bebia à grande. Nos últimos tempos até exagerava. Devorava enormes quantidades de vitualhas pesadas e bem temperadas. A mãe e as filhas mais velhas, encarregadas da cozinhação, não podiam contrariá-lo que não soasse uma bofetada bem aplicada. Os olhos, raiados de manchas vermelhas e castanhas, abriam-se desmesurados quando atacava o prato cheio. Dava estalidos de prazer a cada colherada substancial, os lábios e os dentes a baterem de gozo. Acabava sempre a sua garrafa de litro de vinho tinto soltando um arroto prolongado de satisfação. Quando se erguia da mesa, ele, que fora sempre moreno, apresentava uma coloração arroxeada.
Hipólito revoltara-se sempre com as suas maneiras à mesa. Agora, o seu comportamento enojava. Havia sempre restos de molho, grãos de arroz, bocadinhos de pão, nos cantos dos lábios luzidios. A cabeça mergulhada sobre o prato só se levantava para descompor e regougar um palavrão, os bigodes humedecidos nos molhos, nos caldos e nas sopas. Era um tirano porcino, a desfazer-se, de dia para dia, na glutonice. Parecia encontrar nela o lenitivo para, as suas tristezas. Se os clientes pudessem assistir às suas refeições, talvez não confiassem tanto na sua eficiência. Se lhes pregava a temperança, não a aplicava a ele mesmo.
Os amigos preveniam-no. Mas ele ria-se. Gabava-se da sua saúde de ferro, imune de doenças, de febres e constipações. Aplicava punhadas no peito largo, exibia o magnífico arcaboiço, os músculos dos braços e das pernas. Tinha confiança nos chás medicinais que de vez em quando tomava para disciplinar a digestão e limpar o sangue de gorduras. Isto lhe bastava.
Num belo domingo, ao terminar uma chispalhada monumental, de que fizera as honras supremas, rematou com um lamento, afirmando que era pena o homem não ser dotado de dois estômagos. Durante a refeição moera o genro, com alfinetadas insultantes, num ódio aberto que o outro ouvia mas não retrucava, como sempre. Pôs-se em pé com o proverbial arroto que vinha dos arcanos do seu ventre. Estava excepcionalmente arroxeado. Alargou o cinturão, afagou o abdómen com delícia e encaminhou-se para a «burra» instalada na sala, para tirar a sesta. Foram apenas uns passos e tudo lhe andou à volta. Subitamente, viu tudo negro, as pernas transformadas em moleza de algodão. Com um baque sonoro, ruiu para o chão, como uma árvore decepada, respirando estertorosamente.
- Pronto! É o fim... - murmurou Hipólito, possuído duma alegria vingativa.
Com alarido e gritaria, todos o julgaram a morrer. Transportado para o quarto, vaticinaram que estava por umas horas. A mulher, desvairada, mandou chamar pela «crioula» o melhor curandeiro chinês, o grande mestre que fora de Pablo Padilla. O venerando ancião apareceu logo e, observando o doente, assumiu uma expressão grave. Demorou-se tempo considerável em volta do «espanhol», a testa cada vez mais franzida, puxando e repuxando a sua barbicha grisalha. Pincelou depois uma longa receita, ensinou como tomar os remédios, indicou a dieta e partiu, não dando muitas esperanças. Ou porque os remédios valeram ou por ser protegido por forças ocultas, Pablo Padilla escapou.
Dera um pontapé na morte, mas ficara atingido em metade do corpo. O braço e a perna direita estavam dormentes e inúteis, a boca torcida, onde a língua presa dificilmente se fazia entender. O tirano, o gigante que corria tudo à bofetada e a murro, o ditador que em casa obrigava todos a curvar a cerviz e lá fora era temido pelo seu carácter conflituoso e só era bom enquanto curandeiro, encontrava-se derribado.
Durante algum tempo, a família não compreendeu a realidade da situação. Preso à cama, exercia o seu poder e o seu terror. Contavam que se erguesse do leito, forte como antigamente, com o tratamento desvelado do curandeiro amigo. Cercavam-no de desvelo, apesar dos urros, impaciências e um ou outro sopapo com a mão sã Houve indícios de melhoras, mas fora rebate falso. Uma manhã, ao acordarem, depararam com ele pior que nunca. A paralisia do lado direito era um facto, a boca mais distorcida ainda e o olho cego. O curandeiro teve de dobrar-se à evidência. Nada mais havia a fazer. Mas, porque era amigo, convocou outros colegas, todos familiares do «espanhol». Houve uma junta de curandeiros e todos tristemente concordaram com o veredicto do mestre. Pablo Padilla estava perdido e só tinha de esperar a morte para pôr fim ao seu sofrimento. Hipólito, que não interviera até então, sugeriu, por piedade, que levassem o doente para o Hospital de S. Rafael, chamando um médico da medicina ocidental. Amparo, a cunhada mais velha, disse, peremptoriamente:
- Se estes não podem fazer nada, muito menos os outros. É só gastar dinheiro.
Tudo, então, mudou naquela casa. Cabia a Hipólito, como único homem entre tanta mulher, tomar as rédeas do lar. Assim não aconteceu, porque as duas cunhadas não permitiram, nem ele estava de facto interessado em lutar para isso. A sogra, atarantada pela desgraça, perdera a calma e deixara fugir o mando para aquelas filhas. Desta sorte, chegara a hora delas, unidas e rilhando uma felicidade no meio da tragédia. Acabaram-se os favoritismos e os caprichos do pai, agora era a vez de elas cantarem de alto.
E bem cantaram. De tirano Padilha passou a tiranizado. Era um tronco cortado que se ia desfazendo aos poucos. Soara a sua vez de sofrer, devolvendo o que fizera sofrer longamente os outros. Responsável principal pela educação das filhas, só contemplando, de maneira revoltantemente injusta, a mais nova, estragando física e moralmente as mais velhas, pagava agora tudo, recebia o prémio da sua cegueira e egoísmo. Cientes de que ele jamais se levantaria e nunca mais poderia utilizar o chicote e as mãos, não lhe ligavam nenhuma. O ódio sufocado durante anos expandiu-se no desdém e na indiferença.
Atreveram-se a ir mais longe. Entraram-lhe, uma manhã, pelo quarto e começaram a vasculhar o cofre, as gavetas e os baús, mesmo à vista dele, sem dar conta dos protestos e dos esperneios do pai, que assistia impotente ao roubo. Encontraram sacos de libras de ouro e moedas de prata mexicanas, jóias e papéis de valor. As chaves tilintavam com sofreguidão, entre «ohs» e «ahs». Confirmava-se assim o que sempre suspeitaram. Tinha acções e emprestava a juros elevados. No conjunto, não eram bens de milionário, mas podia-se viver razoavelmente por bastante tempo. Era um capital que às filhas caía do céu. Arrebanharam aquilo tudo, sem que a mãe ou a Cesaltina as detivessem. Aliás, a mãe parecia apoiá-las, entrando em conciliábulos para melhor aproveitamento do dinheiro.
Cesaltina, que gozara até ali de privilégios de princesa, teve de confrontar-se com uma situação desvantajosa. Menina bonita, a «minha doçura», como Padilla costumava dizer beliscando-lhe a face, sofreu a cólera das irmãs. Desabridas e sibilando fel, reduziram-na à expressão mais simples. Ali dentro era tanto como as outras. Se não estivesse satisfeita que se mudasse. Mas isto já não o queria Cesaltina. Habituara-se a morar ali e não sabia enfrentar as tarefas duma dona de casa, para que jamais se preparara. Longe estavam os seus dias em que sonhara habitar a Rua Formosa, rodeada de criados. Submeteu-se, consolando-se de que ainda havia a mãe para aparar as invectivas das irmãs. E estas não iam mais longe por causa do vencimento do Hipólito.
O encargo de Cesaltina era principalmente tratar do pai. No princípio fora uma enfermeira carinhosa, na vã esperança de recuperá-lo. Mas, quando soou o veredicto que selou o pai para sempre na cama, começou a impacientar-se. Fora sempre uma egoísta e sacrificar-se não era com ela. Tinha nojo de lavá-lo, de trocar-lhe a roupa e as fraldas, os lençóis da cama, sujos de urina e de fezes. Não conseguia esconder a aversão, queixava-se abertamente do mau cheiro do quarto e zangava-se com o doente, flagelando-o com palavras duras, ingrata de tudo quanto lhe fizera. Escorriam lágrimas nos olhos de Padilla, mas de tão repetidas que tornaram a filha insensível.
O genro não mexera uma palha, em toda essa tragédia, em favor do sogro. O rancor era tanto que não o movia um sopro de piedade. Estava totalmente empedernido e até se sentia aliviado por nunca mais assistir às brutalidades do «espanhol», às sovas e pauladas que desancava na mulher e nas duas filhas mais velhas: a primeira manifestação do seu alívio foi partir a catana, aquele símbolo de tirania, em dois bocados e atirá-los no monturo de lixo. Era raro visitá-lo. Ficava à entrada do quarto, espreitava para dentro, escutava as murmurações incompreensíveis e retirava-se sem um gesto de simpatia, um procedimento cobarde, sabia-o, mas sofrera muito nas mãos daquele homem violento, para ter pena. E ficava espantado de que no passado pudesse ter um infantil receio desse farrapo humano.
Dizer que estava aliviado não era afirmar que estava mais feliz. Odiava cada vez mais aquela casa trágica, rejeitara intervir nos seus problemas, encasulado numa capa de indiferença, nem se comovia com os queixumes de Cesaltina, destronada dos seus privilégios. Se não fosse a filha, há muito teria desaparecido. Alegrava-se quando ia para o escritório do advogado, onde se distraía. O rosto carregava-se-lhe quando regressava para as refeições e para a noite. Levava trabalho para casa, para preencher o serão, e deitava-se tarde, entregando-se imediatamente a um sono pesado, sem procurar a quentura do corpo da mulher.
O único amparo que Pablo Padilla finalmente alcançou foi na neta desprezada, quando definitivamente acabou os seus estudos no Colégio de Santa Rosa de Lima. Aquando da desgraça, quiseram-na de imediato em casa, mas o pai impediu tal solução, insistindo que fosse até ao fim, pois faltavam apenas alguns meses e era ele quem pagava as despesas. Quando Victorina voltou, Cesaltina entregou-lhe a tarefa pesada de enfermeira.
Apesar de ter sofrido o alheamento inconsciente do avô, nutria por ele o mesmo afecto da infância. Já não era uma idolatria, nem podia encará-lo como um herói. Mas, de qualquer maneira, era um amor imbuído de dó. Sempre ansiara pelo carinho desse homem que governava o lar com mão de ferro, mas que também fazia para a gente de fora curas prodigiosas. Esforçara-se durante anos para atrair as atenções do avô e conseguira descobrir o centro de interesse dele, admirando-se de que nunca tivesse pensado nisso há mais tempo. Nas férias grandes do ano anterior perguntara sobre os unguentos e as ervas medicinais, cheia de curiosidade pelos seus efeitos de cura. Encontrando alguém dentro de casa que mostrava o desejo de aprender, Padilla, entusiasmado, elucidou. Entre o avô e a neta estabeleceu-se um motivo de longas conversas. Sem ser esse o objectivo principal, a moça foi aprendendo, embora nunca lhe fosse permitido assistir às consultas, muito menos quando ele tratava de doenças apelidadas de «vergonhosas».
Quando ficou frente a frente com o doente, revoltou-se contra a família pelo estado de abandono a que o tinham votado, um peso morto que só importunava. A ingratidão para com o ídolo caído, a falta de respeito pelo homem que fora efectivamente o sustentáculo da casa, atingiram-na profundamente. Distanciou-se ainda mais do pai, que não se mostrava condoído com a desgraça do sogro, nem perdoou a traição da mãe banal, que se revelava totalmente esquecida da ternura paterna.
Com admirável dedicação, debruçou-se, atenta e meiga, para o doente. Ela e a «crioula» revezavam-se na função de enfermeiras, sem o deixarem um momento. Victorina conseguia adivinhar-lhe os desejos e compreendia os rabiscos que ele escrevia com a mão esquerda válida. Lia-lhe os jornais, contava-lhe histórias do colégio e corria páginas e páginas de romances, livros de viagens e doutra leitura, em voz alta, para entreter o paralítico. Dava-lhe de comer como se fosse a uma criança, com palavras maternais, massajava-lhe os membros, penteava-o, trocava-lhe a roupa e lavava-o, sem o nojo ostensivo e insultante da mãe. Orava alto ao pé dele, cantava-lhe, em voz sussurrante, as cantigas de adormentar e beijava-o sempre antes de se deitar. Nas noites em que lhe cabia a vigília bastava um pequeno movimento do doente para se erguer.
Com o pai era diferente. Dura e fechada, respondia-lhe laconicamente, e, se não lhe faltava ao respeito, também não oferecia qualquer ensejo para uma aproximação. A estada no colégio não a adoçara nas relações com o pai, antes piorara. Discernira ali a razão da sua má vontade e a irreprimível hostilidade que sempre manifestara desde a infância. Nas conversas das colegas ouvira sempre descrever os respectivos progenitores como homens viris, firmes e brilhantes. Havia admiração e respeito por eles. Um distinguia-se na caça, outro lutara contra piratas, outro ou outros brilhavam na administração do território.
Só ela nada tinha que contar do homem apagado, silencioso, que não reagia às descomposturas e às desfeitas e que temia diante da cólera do sogro e não intervinha nos maltratos que este praticava contra a avó e as tias. Não tinha espinha dorsal esse pai, que, cheia de desprezo, acusava de cobarde. Assistira diariamente a cenas deprimentes. Preferia um pai bruto como o avô àquela coisa amorfa e abúlica, empurrada eternamente pelos outros. Na sua desilusão, só lhe estava grata por suportar as despesas do colégio. No fundo, não acreditava que fosse ele a pagar, mas sim o avô, que modestamente não desejava sobressair como responsável da sua educação.
Um dia, uma companheira do colégio, em frente de outras, perguntou-lhe se era verdade, como se dizia, que o pai dela cerzia as meias e bordava lenços como uma mulher. Protestou veementemente, era mentira, mas o choque da humilhação deixou Victorina esmagada. Se a colega tivera o desplante de lhe perguntar tal enormidade, era porque na cidade esse era o conceito que tinham do seu pai. E, corada de vergonha, soube depois que o alcunhavam de Ovo
Estrelado.
Quando regressou do colégio, Hipólito, acolhendo-a, não compreendeu que era maior o fosso que o separava da filha.
Com a fortuna do «espanhol» nas mãos, Amparo e Carmencita resolveram empregá-la num negócio lucrativo, onde estivessem como o peixe na água. Tanto a mãe como as duas irmãs eram exímias cozinheiras e desde há muito acalentavam o sonho de pôr à venda os seus segredos de cozinha. Tal aspiração nunca se concretizara até então porque Pablo Padilla jamais o consentira. Aquelas mulheres estavam unicamente para o servir e cuidar das lides domésticas. Ganhar dinheiro para a casa era só com ele, que se consideraria vexado se outra fosse a solução. Mulheres independentes, não as admitia de forma alguma. As três não podiam esquecer as pauladas e sopapadas igualmente distribuídas no lombo e nas costas, quando Padilla descobrira que meia dúzia de bolos e uns tantos «salgados» foram vendidos à socapa, para certa festa de amigo. A sova servira-lhes de lição, mas o sonho continuou à espera da primeira oportunidade. Agora já não tinham de esconder nada. Havia, aliás, outra razão. A de encontrar uma fonte de rendimento, pois só a entrada de Hipólito e a cobrança de juros dos empréstimos não chegavam para as despesas, sem que tocassem no pecúlio do pai.
Puseram mãos à obra, com o apoio da mãe, desdenhando de ouvir Cesaltina, descida do pedestal e reduzida à obediência. Alargaram a cozinha, aproveitaram a casa de madeira, que de consultório de curandeiro passara a dependência da cozinha, compraram fogões e panelões e passaram a palavra pela cidade. Vieram as primeiras encomendas e depois o «chá-gordo» dum importante aniversário, de que ficaram encarregadas exclusivamente. Foi um êxito. Tinham, de facto, mãos de fada, uma perícia sem rival. Comia-se e chorava-se por mais. Quem sabe confeccionar o «bolo-menino», o «bolo-coco», o surang-surave, o «pão-de-casa», as coqueiras, as tochas e os rebuçados de ovos? O cake de noiva e o do Natal, os coscorões, as aluas, os fartes, as empadas, as «bebincas de leite», as «barrigas-de-freira», toda uma generalidade de pastéis, bolos e outras guloseimas de que a doçaria macaense é tão pródiga?
E os «salgados»? Quem podia sobrepor-se ao empadão das Padillas, de massa tão fofa e recheio tão rico que eram uma delícia de deuses? E os pães recheados, os chilicotes e os cheese-toasts? O peru assado, com o célebre recheio de carne picada com nozes? Os capões, a «vaca estufada», o «porco à indiana», o «caril de galinha», o arroz de pardal, o arroz-pilar ou gordo das Padillas, o «missó cristão»?
Numa terra em que abundavam festas de casamento, de baptizado, de primeira comunhão, piqueniques, serões familiares, «chás-gordos» e bailes nos clubes, havia sempre lugar para a actividade das Padillas. Prosperaram porque se estendiam encomendas para elas. O que Cesaltina nunca conseguira com o casamento alcançaram as mais velhas e a mãe através da cozinha das grandes casas. Quando chamadas, reinavam nela como comandantes-chefes, penetrando e impondo-se onde até então lhes fora interdito. Mostravam-se cheias de susceptibilidades, faziam-se caras, rendendo o seu incontestável talento.
Esta foi a vingança das Padillas, tanto tempo ostracizadas. Como colaboravam nas festas, eram também convidadas, com a Cesaltina à ilharga, perfeitamente conformada e colaborante, na sua situação subalterna. Sabiam que eram detestadas e gozavam, com refinado prazer, os salamaleques e as lisonjas. Não lhes foi difícil encontrarem-se frente a frente com os Vidais. Cesaltina teve finalmente a desforra de lhes virar a cara. Subira pela cozinha, mas estava ali plantada com as irmãs e a mãe, nos salões, de igual para igual. Encontrando audiência no círculo dos privilegiados, no próprio terreno dos Vidais, vasculharam-lhes a vida, denunciaram, pela intriga e pelo veneno, os podres da família, alargando-os e exagerando-os, inventaram histórias e enredos que enodoaram de qualquer maneira a honra e o orgulho dessa gente, que tivera a ousadia e a veleidade de as desprezar durante quase vinte anos.
Mas não se limitavam aos Vidais. O seu rancor alargava-se por todas aquelas famílias que não requeriam os seus serviços e continuavam a fechar-lhes a porta de casa. Entre elas estava a dos Frontarias «piratas», sobretudo a Bita Frontaria, que «não lhes passava cartão».
Cada convite era um triunfo para elas, pois era um sinal de que ascendiam na posição social, dentro da «cidade cristã». Quando retornavam duma festa, demoravam-se as quatro em torno da mesa de jantar, a comentar e a criticar, apontando os senões de cada um a registar as considerações e desconsiderações recebidas. Não faltavam alfinetadas contra Hipólito, de cujo apelido já não precisavam para se insinuar no «círculo fechado». Ele estremecia, enojado com a lengalenga. Eram métodos de que de forma alguma concordava. Tudo era tão vil, baixo, desconforme com a sua sensibilidade. Vegetava num mundo à parte, alheio às Padillas. Mas elas não o poupavam à medida que se sentiam mais seguras nos rendimentos e na aceitação social. O desabrimento da Cesaltina tornara-se estridente, as cunhadas e a sogra não escondiam a sua aversão e desdém. Ainda havia o vencimento do fim do mês para tapar aquelas bocas, mas abertamente faziam descaso dele. Frisavam com insolência e desejo de ferir que era uma boca a mais, portanto dispensável. Andava desleixado porque ninguém tomava conta da sua roupa, num fio. Comia mal porque a sovinice das cunhadas reduzira as refeições a «pensão de morte lenta». Toda a suculência e cuidado nas iguarias iam para o negócio. E já não havia a razão de ser do casamento, porque marido e mulher viviam em camas separadas, estranhos um ao outro.
Libertado da canga do sogro, assomavam-lhe cada vez mais indícios de rebelião. A taça da sua paciência estava em risco de extravasar. Odiava a casa, o cheiro das gorduras, das vitualhas e dos doces, que substituíra o dos remédios e chás medicinais e que invadia os quartos e se impregnara na sua própria roupa e pele. A única razão por que ainda se aguentava ali dentro era a Victorina.
Amava-a, apesar de tudo. Condoía-se com o seu aspecto físico, com a infelicidade do seu estrabismo. Assolapava-o o terror quando pensava que pudesse ter o destino igual ao das tias. Queria estar ao lado dela para a defender das injustiças e da virulência do mundo. Embora a filha se fechasse numa redoma, frustrando-lhe as tentativas de aproximação, contava com o dia em que ela discernisse a luz do seu amor. Era por este dia que ainda se agarrava à casa.
Aos dezoito anos, Victorina recebeu o convite para ir a um baile. A distinção teve uma ressonância de choque. O seu primeiro baile! Era em casa dum comerciante rico de Santo António, por ocasião das bodas de prata do seu casamento. As Padillas tinham sido encarregadas do «chá-gordo», que metia também bailarico, e já uma orquestra ensaiava com afinco para o grande dia.
Ficou alvoraçada, pois, uma vez saída do colégio, quebrara o contacto com as colegas e fazia uma existência reclusa de enfermeira do avô. Até então não participara nas festas a que iam as tias, a mãe e a avó, com muito poucas relações fora de casa. Alegremente, foi comunicar ao avô, que sorriu a metade da boca, num esgar medonho.
Um contentamento estranho apossou-se do seu coração. Ia dançar pela primeira vez. Aprendera a dar uns passos no colégio, ao acompanhamento da música, conduzida pelas colegas, que lhe diziam ser leve. Fora um aprendizado incipiente, mas para ela suficiente.
Até então não conhecera nenhum rapaz. Eles passavam ao largo, sem manifestar interesse. E ela correspondera da mesma maneira, pouco inclinada a derriços e namoros, sempre consciente do defeito físico, que agora tentava disfarçar usando óculos fumados. E, de facto, até à saída definitiva do colégio não sentiu a necessidade de qualquer ternura fora do ambiente familiar. Aos rapazes encarava-os com curiosidade, mas sem o entusiasmo e o calor das amigas, que citavam este e aquele como príncipes dos seus sonhos. Vagamente, confiava que a sorte a havia de favorecer a seu tempo. Nunca se importara com a sua magreza, nem tinha uma nítida noção do que os outros pensavam dos seus atributos físicos.
A primeira decepção obteve-a com o vestido. Não fora o que imaginara, contrário ao seu gosto. Ousou objectar, afirmando que lhe ficava mal a cor e o modelo, mas as outras quatro mulheres caíram-lhe em cima, como gatas assanhadas. Não queriam a menina espalhafatosa e garrida. Era preciso guardar o recato e o pudor, mostrar que recebera uma educação adequada. E o vestido apareceu, severo como o duma missionária protestante inglesa, pesado de mais para a sua idade, envelhecendo-a uns dez anos. Pentearam os seus lustrosos cabelos negros de tal forma que, no conjunto, dava a impressão dum espantalho. Cesaltina esquecera-se de que naquela idade fora uma jovem bonitinha e elegante, transformando-se numa mãe puritana, achando que o que era bom para ela seria inevitavelmente bom para a filha. Com os óculos a escorregarem-lhe na cânula do nariz, o rosto sem pintura e o ar cansado das vigílias, nada a favorecia.
Bastou murmurar que preferia não ir para que quatro vozes gritassem à sua volta, explodindo de indignação. O Sr. Barreto não era um anfitrião qualquer. Convidara-a especialmente a ela e ao pai. Ambos tinham de ir, desse por onde desse. A mãe, em paroxismo desnecessário, chegou a ameaçá-la com a vassoura de vime. Dobrou-se à vontade das mais velhas, mas nem por isso se sentiu solidária com o pai, tão confrangido como ela. Partiram os seis em cadeirinhas e foram dos primeiros a chegar ao casarão de Santo António.
Hipólito vira o drama da filha e estava também inferiorizado. A casaca, mal feita e de pano barato, parecia querer rasgar-se pelas costuras, de apertada. O colarinho e o peitilho duros tolhiam-lhe os movimentos. Tinha as calças demasiado curtas, que revelavam as peúgas. Antes de sair contemplara-se ao espelho e o perfil examinado era ridículo.
As Padillas, mal vestidas, depois dos cumprimentos do estilo, dirigiram-se para a sala de jantar e para a cozinha. Victorina, conduzida pela dona da casa, instalou-se num canto da grande sala de recepções. Hipólito foi juntar-se a um grupo de cavalheiros. Pai e filha, sem o apoio um do outro, sofreram imediatamente a mortificação de estarem deslocados e isolados. Hipólito, que perdera tantos amigos, via-se, sem conversa, figura insignificante, não sabendo a quem se encostar. Entre a chusma de convidados que afluíam constantemente avistou o seu irmão e a cunhada e, atrás, as irmãs, todos impecavelmente trajados, ostentando prosperidade. A diferença económica entre ele e os irmãos era flagrante. Ali mesmo foi assaltado pela pergunta que insistentemente lhe vinha à cabeça. Até quando havia ele de continuar na sua situação de humilhado?
O mesmo acontecia a Victorina. Encontrou as amigas do colégio, que lhe fizeram festinhas de alvoraçado acolhimento, como fazem as meninas educadinhas que há muito não se vêem. Dissipada a novidade, o interesse do encontro ia diminuindo, até que, uma a uma, com esta ou aquela desculpa, se afastavam. Não procediam assim para ofender, mas porque o pensamento vogava para outros centros de atenção. Sentada na cadeira, viu-se sozinha, desesperada por uma companhia permanente, que a distraísse. No entanto, parecia não haver quem perdesse o seu tempo com ela, senão cumprimentos apressados, trocas de palavras rápidas, enquanto em seu redor ouvia conversas e risadas de gente feliz, como se as festas para ela fossem um hábito quotidiano.
Quando a sala principal e outras abarrotavam de convidados, correram as bandejas de champanhe. Com a taça na mão, o pároco da freguesia botou discurso comovente, falando do casal como exemplo de vida conjugal. Invocou as blandícias do casamento, a unidade da família, o amor, a abnegação e o perdão das faltas, para preservar o elo que ligava os pais e os filhos.
Hipólito queria rir-se daquilo, que lhe parecia um papagueado bonito e edificante, mas que não tinha significado nenhum, pelo menos para ele. Fora abandonado pelos pais e irmãos e era desprezado pela família à qual se juntara. Onde estavam as blandícias do casamento e a unidade que devia ser cultivada por todos? Aquelas palavras não tinham sentido nenhum para ele.
Depois do discurso muito aplaudido e o casal festejado muito cumprimentado, começou o «chá-gordo». Abriram-se as portas da sala de jantar, mas não cabia toda a gente lá dentro. Nem por isso as pessoas que ficaram noutras salas e corredores foram menos bem servidas. Criados e criados passavam com bandejas cheias de vitualhas, sortidos de pastéis, bolos e doces, enquanto outros traziam refrescos e bebidas alcoólicas. Comia-se bem e bebia-se melhor, num ambiente de fartura e opulência, os anfitriões hospitaleiros, a zelar pelo conforto dos seus convivas. Não havia uma nota discordante, o «chá» estava uma delícia, as Padillas, mais uma vez, tinham triunfado. Como elas se torciam com as lisonjas, com protestos de falsa modéstia.
Se cavalheiros graves, depois dos comes, preferiam recolher-se para a sala do fundo, para o whist e para o packer, e as senhoras para as partidas de bafa, e outros se estendiam languidamente nos sofás e poltronas para conversas triviais, a mocidade começou a exigir o começo do bailarico. Nisto também se juntavam adultos que não queriam perder tempo na mesa do jogo ou junto do bar improvisado.
A orquestra de cordas instalou-se num estrado, afinou os instrumentos e os violinos começaram a gemer uma valsa dolente, em honra dos anfitriões homenageados, que abriram o baile. Imediatamente, o salão encheu-se doutros pares, rodopiando num rumor de saias e de colorido.
Começou então o lento e doloroso calvário de Victorina, que não saíra da sua cadeira desde que ali fora instalada. Rapazes iam e vinham sem olhar para ela. O seu carnet de baile permanecia inútil no regaço. Uma vez, o coração assolapou-se quando surpreendeu um mancebo simpático caminhar em sua direcção. Já esboçava um sorriso quando se apercebeu da confusão. O rapaz procurava mas era a moça que estava sentada atrás dela. Uma questão de segundos e tivera tempo de disfarçar o equívoco, escondendo o rosto atrás do lenço. Embora carminasse de vergonha, ninguém notou.
E o tempo deslizou. Vieram as polcas e as mazurcas, marcou-se a quadrilha, seguiram-se os «lanceiros» e houve marchinhas. E Victorina sempre grudada à cadeira, esquecida e rejeitada.
A certa altura curvou-se à sua frente o dono da casa, a solicitar a honra duma valsa. Victorina, confusa, disse que essa modalidade de dança não lhe era muito familiar, mas o cavalheiro gentil insistiu e não houve remédio senão aceitar. O Sr. Barreto era um homem de idade, com uma barriga proeminente, que aproou contra os ossos de Victorina. Não podia oferecer o mínimo interesse para uma moça de dezoito anos, que adivinhava o gesto do mais idoso como um requinte de cortesia dum fino anfitrião.
Logo à primeira volta falhou. Não era capaz de seguir os revoluteios do seu par, cujos pés pareciam asas. Ela teve a noção de que, apesar de toda a sua magreza, devia pesar como chumbo, pois não se desembaraçava nem se coordenava com os passos dele. O Sr. Barreto desistiu de conduzi-la e deixou-se ir à deriva, sempre amável, mas suspirando pelo termo da música. Eram um par ridículo, ele baixo e redondo, suando à luz dos profusos candeeiros e candelabros de petróleo, ela alta, ultrapassando-o testa acima, direita e esguia como um vime duro, os óculos a escorregarem constantemente da cânula do nariz. Tinha a impressão de que todos olhavam para eles chacoteavam. Surpreendeu o ar ansioso do pai, que despregou um leve sorriso, para a animar, e odiou-o por isso mesmo. Conduzida à cadeira, retribuiu os agradecimentos, aliviada e infeliz ao mesmo tempo. Havia tantos rapazes simpáticos e atraentes, mas não eram para ela. A sua condição de mulher não permitia que se erguesse e se dirigisse a eles para lhes pedir para dançar. Seria um acto espantoso e reprovado, pelo seu atrevimento. Nem que ela dissesse que só gostaria de rodopiar como as outras, pois era jovem, sem quaisquer pretensões reservadas. Mas não, tinha de colar-se à cadeira, à espera sabe-se lá de quê e de quem. O seu carnet de baile continuava virgem de qualquer rabisco, depositado ridiculamente no seu regaço. Para que a teriam obrigado a trazê-lo?
Refrescos passam em largas bandejas. Estava morta de sede, de calor, e precisava de ocupar-se em qualquer coisa. Bebeu um sumo de laranja, muito fresquinho, a goles sequiosos, e o copo ficou entre os seus dedos, vazio, por um tempo que não contou. E os ponteiros do relógio deslizaram, sem que ninguém se aproximasse.
Em torno dela, as moças riam e tagarelavam; cruelmente indiferentes do seu drama, levantavam-se para dançar. A animação recrudescia e a festa para os outros era um êxito. Só ela, Victorina, parecia chumbada à cadeira, abandonada e ostracizada.
De repente, apercebeu-se de que, noutra ponta da sala, a D. Eulália, a anfitriã, falava para o filho Eduardo, apontando discretamente para ela. O rapaz meneava a cabeça, em negativas, denunciando relutância. Pouco depois, num gesto de contrariedade, imperceptível para quem não estivesse atento, o moço gingou o corpo, ladeando o recinto de dança.
Aproximava-se. Praticamente lera o conteúdo da conversa e a imposição da mãe. Os anfitriões eram obrigados a não descurar os convidados. O rapaz chegou-se a ela, afivelando um sorriso hipócrita, que não traduzia o seu real sentir. Era, no fundo, uma humilhação. Victorina não desejava que ninguém dançasse com ela por obrigação, mas sim por gostar. Como dizer não ao próprio filho dos donos da casa?
Ergueu-se mais incerta que nunca. Tocava-se uma polca animada e furibunda. Desculpou-se, repetindo que não sabia bem os passos. Eduardo, condescendente, replicou que não tinha importância, pois não acreditava. Amabilidades sociais e de ocasião! Desacertaram imediatamente. Paravam, os pés chocavam-se, ela movimentando-se para a frente, quando ele queria impeli-la para trás. E os óculos a escorregarem sempre, mostrando o olho estrábico. Sentia os dedos do moço a crisparem-se de mal contida impaciência. Soaram as desculpas, que parecia serem a única coisa em que dialogavam. Eduardo não a ajudava em nada, nem possuía a generosidade de lhe indicar o que devia fazer, dissipar-lhe o nervosismo, transformando o seu corpo na dureza dum cepo. Mas não se ia esperar bondade de quem cumpre um serviço contrariado e a despachar. As atenções dele dirigiam-se para os lados, trocando piropos com outras jovens, rogando-lhes que inscrevessem o seu nome no cornet para a próxima valsa ou quadrilha.
As outras gargalhavam, volviam-lhe gracinhas e pontinhas de ironia. Victorina nem sequer ousava olhar para a cara do rapaz, para não discernir o fastio de cumprir um «frete».
Finda a polca, que se estendera interminável, ultrapassando os minutos usuais, o filho da casa apressou-se a conduzi-la para o lugar. Uma curvatura polida e logo desandou, quase a correr, com receio de que ela o detivesse por qualquer pretexto. Victorina compreendeu que não regressaria, que ia passar a palavra no seu grupo, que ela não dançava nada, era horrível, nem sabia conversar. Não lhe daria quartel nos comentários, com a volubilidade característica da mocidade.
Agora, já queria ir para casa. Ao menos ali estava protegida da troça e das desigualdades. Junto do avô reinava como uma princesa, sem outra rival, sem ter de sujeitar-se a comparações. Desesperada, aproveitou a companhia duma senhora para refugiar-se no «quartinho». Ali permaneceu mais tempo do que necessário, porque temia voltar à sala. Contemplou-se ao espelho e a imagem sucumbiu-a. Estava mais espantalho do que quando entrara. E nunca o olho se revelou mais vesgo do que naquela ocasião. Era um fiasco total. Jamais fizera uma caminhada tão difícil como aquela em que regressava à sua odiosa cadeira, onde brilhava, esquecido, o seu cornet inútil. A todo o momento, enquanto o baile se desenrolava esfuziante, esperava pelo sinal da avó, da mãe ou das tias para se retirar. Mas elas, gozando do triunfo, tão cedo não sairiam daquela casa.
Viu o pai, à porta da sala, a observá-la com ar preocupado. Ia e vinha, sempre com a atenção posta nela. Isto inferiorizava-a mais, porque não queria a pena de ninguém. Era supinamente humilhante e cada vez que o surpreendia nessa função crescia-lhe a indignação. Não podia o pai afivelar outro rosto e não ser tão ostensivo nos seus cuidados? No meio daquela opulência toda, de gente endinheirada ou aparentando sê-lo, como o pai lhe parecia caricato, com a sua casaca malfeita, o ar simpático, tão diametralmente oposto aos outros Vidais presentes, que tinham, pelo menos, arrogância de posses e frisavam, a cada passo, isso mesmo.
Demorou-se a olhar para o outro lado e, de repente, apercebeu-se de que o pai estava diante dela. Que pretendia? Teve a resposta imediata quando ele, num sorriso doce, a chamou para dançar a valsa que se iniciava.
Não, não queria a piedade dele, nem que formassem outro par ridículo, para produzir nova chacota. Era de mais. Tinha vergonha daquele homem, que nunca soubera afirmar-se homem como ela entendia. Toda a frustração acumulada da noite estoirou, numa incontrolável irritação. Respondeu desabridamente:
- Eu não danço.
Hipólito, que fizera um esforço para atravessar a sala, recuou desarvorado. Em voz macia insistiu, tentando pegar-lhe na mão. Ela afastou-o, com uma exclamação brusca, replicando:
- Já disse que não danço. Para que é que teima?
A voz ecoou desnecessariamente áspera e estridente, chamando a atenção daqueles que estavam próximos. Hipólito não se moveu por uns segundos, o sorriso meigo a converter-se em completa mortificação. Depois, virou-se e retomou a mesma caminhada, como um cachorro batido, rabo entre as pernas, a quem tivessem dado um pontapé no traseiro.
Victorina não o viu mais, senão uma hora depois, quando as Padillas finalmente deram o sinal de partida. Pai e filha não trocaram palavra. Victorina tinha uma vaga noção de que fora incorrecta. Obnubilava a sua mente o ressentimento por tudo que suportara naquela noite. Descarregara no pai a sua frustração, como uma válvula de escape. Aliás, estava habituada a ver maltratarem o pai. Desde que se lembrava, encaixara grosserias, descomposturas e insultos, sem protesto. A brusquidão da filha não era mais que um reflexo daquilo a que assistia diariamente em casa. Não lhe passou pela cabeça que devia pedir-lhe desculpas.
Tão insignificante era Hipólito para aquelas mulheres que nenhuma reparou na palidez desusual que marcava o seu rosto, nem no olhar fixo nas órbitas cavadas. Em casa não se demorou junto à mesa onde elas se juntaram para os comentários, impressões e a má-língua sacramentais. Subiu direito para o quarto, onde aguardou que Victorina viesse retractar-se.
Mas esta estava longe de pensar em semelhante coisa. O que queria era recolher-se no seu quarto e não ouvir mais enaltecerem o grande triunfo do «chá-gordo». A mãe nem sequer lhe perguntara se, ao menos, se divertira.
Em cima espreitou o avô, que dormia. Fez as recomendações à «crioula» e dirigiu-se ao seu quartinho acanhado, o seu mundo. O espelho, de novo, atraiu-a. Estava medonha com aquele penteado, a cara oleosa e destituída de pintura, toda alterada pelo desgosto. Seria, no entanto, tão feia, tão repelente que não merecesse a simpatia de ninguém.
Havia o olho defeituoso. Era vesga... zarolha... ou pisca, como se dizia no calão da terra. Tinha os ombros agudos, um peito raso, mãos ossudas, que denunciavam pulsos e braços que lembravam tocos de lenha seca. Sentiu uma imensa vontade de chorar. Uma infelicidade intraduzível oprimia-lhe o coração e tão cedo não havia de desaparecer. Revoltada, desfez o famigerado penteado e as madeixas negras, dum sedoso deslumbrante, rolaram pelas suas costas. Por que a não deixaram demonstrar o quanto eles eram belos?
Ao despir-se, mirou o odiado vestido que a fizera velha e feia. Iria trajá-lo de novo, para realçar o seu deprimente aspecto de espantalho? Num gesto de rancor histérico, rasgou-o de alto a baixo. Depois, entusiasmada com a própria audácia, esfrangalhou-o em pedaços. Que lhe importavam os ralhos que amanhã ressoariam nos seus ouvidos? Nunca mais o usaria, e isto era o principal. Quando, mais tarde, se estendeu na cama, no meio da escuridão, com os latidos do cão da vizinhança a quebrar o silêncio da noite, ocultou a cabeça por entre as almofadas e pranteou baixinho, longamente.
Hipólito Vidal dormiu apenas um sono leve. A maior parte da noite decorrera-a revendo a sua existência. Aprontou-se como do costume para o serviço, tomou, casmurro, o pequeno-almoço e saiu. Ninguém prestou atenção ao seu ar fatigado, o pavor esquisito do seu rosto, as mãos que tremiam de nervosismo. Chegou ao escritório primeiro que ninguém e, subitamente, decidiu-se. Rabiscou ao patrão que não voltava da parte da manhã, pois estava ocupado por um assunto pessoal, pedindo que o relevasse do transtorno. Saiu para a rua, chamou uma cadeirinha, indicando a morada do padrinho na Areia Preta. Era um longo trajecto, mas dava-lhe tempo para melhor pensar no que ia comunicar ao único verdadeiro amigo que tinha.
Gonçalo Botelho, ainda de pijama, acolheu-o com natural curiosidade, mas foi logo dizendo:
- A tua visita, a esta hora matinal, não me cheira bem. Cada vez que me apareces assim trazes-me um problema. Vamos a ver se to posso resolver.
- É o único que pode.
Foram para a fresca casa de jantar, onde o sol e a aragem generosamente entravam. Afirmando que ainda não tomara o pequeno-almoço, exigiu que o afilhado o acompanhasse. Nada como a barriga cheia para sofrer o embate de dramalhões e ponderar melhor. A fragrância dos ovos estrelados com bacon e a caneca de louça rústica de café, de verdadeiro café, e não a água choca da casa, convenceram Hipólito de que a exigência era ajuizada. O apetite renovado adoçou a sua amargura, mas nada escondeu.
A única circunstância que o levara a colar-se aos Padillas tinha sido os seus dois filhos. Um perdera-o, tragado por uma morte inconsolável.
Provavelmente, já não haveria mais Vidais varões para continuar a família. Aliás, o irmão também só tinha filhas. Restara-lhe apenas a Victorina. Ficara porque sentira que um dia precisaria dele. Na noite anterior, porém, avaliara bem a aversão da filha. Fizera o possível para conquistá-la durante todos esses anos. Encontrara em resposta, uma barreira impenetrável.
- Ela, simplesmente, despreza-me.
Havia tanto desalento na constatação que o padrinho se condoeu. Quis consolá-lo, mas achou supérfluas todas as palavras. Tal confissão, para um pai, devia ser imensamente humilhante.
- Aceito que tive culpa desde o início. Mas já não vale nada apontar erros. A realidade é esta. Perdi o amor da minha filha e em troca só recebo o desdém. A razão de ser por que me agarrei àquela casa desapareceu. Já não posso mais. Para tudo há um limite.
- Que tencionas fazer?
- Fugir, desaparecer daquela casa para muito longe. Não há outra solução se desejo viver. Chegou a vez de cuidar só de mim e da minha própria felicidade. Também me assiste este direito.
- É uma decisão muito grave...
- É, eu sei. Mas um homem não pode ser eternamente espezinhado só porque é bom. Chega já de indignidade. Anseio pelo respeito dos outros, que aqui não tenho, e só posso restaurá-lo em ambiente diferente. Quero viver com decência.
Ergueu-se e foi encostar-se ao peitoril da janela, a ouvir a chilreada dos pardais que bicavam a areia do jardim. Já não era o homem manso e tímido que o padrinho conhecia. Estigmatizava-o ainda o ar fatigado, mas havia uma nova personalidade nos gestos e no vinco dos lábios. Calou-se um instante, para se voltar depois para o mais velho:
- Penso em ir para Xangai. Nunca mais me esqueci da descrição que me fez dessa grande cidade. É uma terra de grandes oportunidades, campo aberto para quem deseja trabalhar e ali ninguém me conhece. Não posso deslocar-me sem dinheiro. Venho pedir que mo empreste.
- Pensaste bem... não te arrependes?
- Não. É a minha única safa. Não me basta sair de casa. É preciso partir para muito longe, para que o malefício das Padillas não me atinja. Pode ajudar-me, padrinho? Se lhe custa, diga-me com franqueza, que arranjarei o dinheiro de qualquer forma, por via do Dr. Tovar. Só que com ele não tenho tanta confiança.
- Eu não disse que não te ajudava. Vai-me cair a cólera das mulheres quando souberem. E a tua filha odiar-te-á com esse procedimento. Mas o problema é teu.
- Não me pode desprezar mais do que me tem desprezado. O padrinho, um dia, encarregar-se-á de lhe explicar. Se o ouvir, é claro. Com o tempo ficará contaminada pelas outras.
Discutiram o quantitativo que tal passo requeria e concluíram por um número. Quanto Hipólito manifestou a intenção de assinar uma declaração de dívida, Gonçalo Botelho indignou-se. Não assinas nada, que me insultas. Confio em ti e não te quero ver mais a estiolar e a vegetar. Nunca é tarde para recomeçar e tu necessitas duma chance. A vida foi muito dura para ti... Um desperdício. É tempo de pensares só em ti, e não nos outros que te enchem de pontapés. Olho para ti como se fosses meu filho. Há muito tenho penado com a tua infelicidade.
- Pagar-lhe-ei tudo, pode crer. Muito obrigado.
Apertaram as mãos, selando o pacto. Ambos estavam comovidos. Botelho esteve à beira de lhe confessar que o considerava há muito seu herdeiro, pelo que fizera no tabelião um testamento a seu favor, ainda que lhe relutasse que o dinheiro pudesse cair nas mãos da Cesaltina. Mas, quanto a isso, já não tinha de que se preocupar. Mas calou-se. Era bom que tivesse sempre em mente a dívida, para que trabalhasse com afinco em terra nova.
- Quando tencionas partir?
- Logo depois de receber o vencimento do mês, que entregarei a Cesaltina. São os últimos escrúpulos da consciência. Não vai ficar na miséria porque o meu sogro deixou dinheiro e o negócio de «doces e salgados» rende. Se nos levantamos da mesa com fome, não é devido a falta de fundos, mas à sovinice das Padillas. Tenho, portanto, de esperar doze dias.
Discutiram, então, os pormenores da partida. Gonçalo Botelho não só lhe emprestava o dinheiro para a passagem e para os primeiros meses em Xangai, como prometia cartas de recomendação aos amigos para facilitar a sua instalação. Foi mais longe. Assumiu a responsabilidade do enxoval do afilhado, que ele não podia aportar à grande metrópole com os fatos num fio e poídos. Uma boa apresentação, desde o início, era decisiva.
Dizia tudo aquilo com sádico prazer, movido pelo asco aos Padillas, que tinham destruído esse rapaz, na juventude tão vaticinado para altos voos. Perdoou-lhe a ingratidão de viver afastado dele anos a fio, arredado da sua companhia e do seu afecto. Não se podia exigir dum homem esmagado por atroz desilusão uma lisura no cumprimento dos deveres sociais e da amizade.
Um fundo suspiro e desvaneceu-se o ar fatigado no rosto de Hipólito. Começou a rir-se e a lembrar-se da felicidade dos dias que passara na chácara. Perguntou pela Sui Mei. Partira, havia agora outra ou outras. O padrinho não mudara dos seus hábitos e a saúde resplandecia. Depois, recordou-se, com saudade, da Y Leng. Não encontrara ninguém que a substituísse na «casa amarela».
- Oh, possa eu viver dias semelhantes aos que aqui passei. Invejo-o, padrinho. Esta calma... este quotidiano, sem berros, gritaria e insultos. Um dos motivos por que não tenho vindo aqui mais frequentemente é porque só trago a tristeza.
Botelho não respondeu. Rememorava um facto. Havia um rouxinol que cantava maravilhosamente no seu jardim, no cedinho da manhã e ao entardecer. Um dia, os criados caçaram-no e meteram-no numa gaiola que ficou pendurada numa trave do alpendre. O rouxinol nunca mais cantou e gastava o dia a saltar contra as grades de bambu fino, ansioso de espaço e dos verdes da ramaria. Bico aberto, em constante protesto, não se adaptava à prisão. Condoído com aquele desespero, abriu um dia a portinhola e soltou o pássaro. Viu-o voar como uma seta e desaparecer por entre o arvoredo. Tempos depois, o rouxinol, por qualquer razão, regressou, mais mavioso e gorjeante que nunca, para encanto do seu jardim e para enlevo dos que o escutavam, porque tinha conquistado a liberdade. Esse rouxinol e Hipólito pareciam uma e a mesma coisa.
Os dias que se seguiram consumiu-os como se pairasse fora da realidade. As horas corriam lentas, dolorosas, mantendo a mesma rotina, apagando-se para não suscitar a mínima suspeita. Não levaria nada da casa, excepto um ou outro objecto pessoal de fácil transporte. Quando embarcasse, usaria tudo novo, juntamente com uma alma nova.
Não disse nada ao advogado, confrangendo-se por não ser leal. Sabia, no entanto, que o Dr. Tovar utilizaria todos os meios para o dissuadir e, como tinha um conceito muito severo das obrigações do casamento, temia que desse rebate, uma vez conhecedor do plano, para impedi-lo duma loucura. Escrever-lhe-ia, explicando tudo, quando estivesse longe e o facto consumado. Para compensá-lo da fuga, trabalhou com afinco, não deixando trabalho atrasado, a ponto de o patrão estranhar tanto empenho e zelo.
Tremiam-lhe as mãos quando recebeu o vencimento. Era um sábado e devia embarcar naquela mesma noite. Mal podia disfarçar as lágrimas que perlavam nos seus olhos. O Dr. Tovar fora muito bom para ele, não era justo que o abandonasse assim. Talvez houvesse uma saída mais airosa para se deslindar do emprego, mas não a vislumbrara. Nunca tomara uma decisão de tanta magnitude e não desejava nenhum tropeço sobre a hora.
- Que há? Tens os olhos vermelhos.
- Creio que estou... constipado.
- Tem cuidado contigo. Até segunda-feira.
Estas foram as últimas palavras ouvidas ao advogado, que se apressava para ir à pesca nos rochedos da Boca do Inferno. Hipólito fechou as gavetas e depôs as chaves sobre a secretária. Quando o escritório reabrisse na segunda-feira, estaria já muito longe. E segunda-feira era o primeiro dia do outro mês.
Entregou o vencimento a Cesaltina, que friamente separou um montículo de prata que era para os cigarros dele e introduziu o resto na cómoda, repetindo um hábito de muitos anos. Se dedicasse mais atenção ao marido, ficaria alarmada com o calor e a alteração do seu rosto. Mas, como sempre, ele era tão insignificante que nem Cesaltina nem as irmãs atentaram para o facto, absorvidas nos preparos dum novo chá de baptizado, a realizar-se naquela mesma tarde.
Estava programado que ele também acompanhasse a mulher, a sogra e as cunhadas. Decidira não ir, para aproveitar a tarde para uma longa conversa com a filha. Na mesa do magro almoço, no momento em que as mulheres, com excepção de Victorina, silenciosa, tagarelavam mais animadamente, disse, num fingido desprendimento:
- Não vou à festa.
Um silêncio de espanto pairou na mesa, interrompendo a tagarelice. Era uma surpresa tão completa que deixou a todas, por uns segundos, sem fala. Pela primeira vez, aquele homem se opunha peremptoriamente a uma deliberação já tomada, como uma ordem.
- Por que não há-de ir?
- Não vou porque não gosto dos Cunhas. Não faço lá nada e não estou para aturar o Paulino Cunha, que sempre que pode me goza com palavras ofensivas.
- Ah, quem não goze você... São todos. Para quê esta atitude agora? - inquiriu Amparo.
Quebrara a passividade. O ódio recalcado de tantos anos extravasara. Era preciso conter os nervos. Lançou à cunhada um olhar rancoroso e disse:
- Uma vez tinha que ser a primeira. Já decidi. Não vou... não quero ficar ali, sem ninguém para conversar. Estou farto. Os Cunhas pagam a vocês, mas não são meus amigos. Não toco os pés naquela casa.
- Peixe fora da água está você em toda a parte - gritou a outra cunhada.
- Isso já o sabia há muito. Por isso mesmo, mando-os à fava. Rugiram todas em cima dele, num desnecessário pandemónio.
Aquela resistência insólita pusera as mulheres num frenesi. Não estavam afeitas a vê-lo refilar. Aquele procedimento tinha de merecer um correctivo, pois não podiam consentir que ele ficasse com o freio nos dentes, a escoicear livremente. À medida que se excitavam, palavra puxa palavra, perdiam as estribeiras, vomitando o repertório característico das Padillas.
De repente, compreendeu que todas elas, em conjunto, não o intimidavam. Fora tudo tão fácil afinal, e sujeitara-se, anos seguidos, a toda a casta de abusos, quando era tão simples objectar. Todas elas mais não eram que mulheres histéricas, em gritaria escusada, mas fisicamente incapazes de lhe tocar. Bem desejava arrumar uns fortes bofetões naqueles carões deslavados. Era o que elas mereciam há muito. Talvez pudesse usurpar o lugar de Pablo Padilla, dominando essas megeras à paulada. Mas não estava interessado, ia-se embora definitivamente. Seria um risco andar aos murros e provocar um escarcéu maior, as mulheres saindo para a rua, a gritar «aqui-d’el-rei». Se nunca gostara de se meter com as autoridades, muito menos agora. Seria a pior coisa que lhe podia acontecer naquele momento.
- Se não quer ir connosco, então não coma connosco. Saia desta mesa - disse a sogra, congestionada.
Era precisamente o que ia fazer, levantar-se da mesa. Só que se atrasara, dando a impressão de que fora mesmo corrido. Tremia, muito pálido, num esforço para guardar os últimos resquícios de serenidade. Mas este esforço prejudicou-o. O perfil que apresentava era sempre dum cachorro batido. Tinha-se esquecido de que a filha o observava.
Victorina também se espantara com a declaração do pai. Nunca, vindo dele, assistira a uma atitude de resistência. O coração começara a pulsar-lhe forte, os olhos desmesuradamente abertos por detrás dos seus óculos escuros. Seria que desta vez saberia impor-se definitivamente, acabando com os abusos e os insultos? Mas a sua esperança esmoreceu quando o viu, sem reacção nenhuma, diante do chorrilho de invectivas. Como um homem podia encaixar semelhantes desconchavos sem retrucar! E aquele era o seu pai, sem o menor sentimento de honra. Ah, se fosse o avô! Elas engoli-las-iam todas, com as caras numa bola, amachucadas pelos punhos cabeludos. E o pai obedecera logo, quando o expulsaram da mesa. Quis chorar de vergonha e de tristeza, não por aquele homem, mas por si mesma, pela infelicidade de possuir um progenitor daquele quilate.
Hipólito, em vez de subir para o quarto, dirigiu-se para a porta da rua. Era outro procedimento insólito, de menino desobediente» Cesaltina gritou:
- Aonde vai?
- Para a rua. Aonde iria?
- Pode ir e não voltar - disse, com petulância, a cunhada mais
nova.
Dissera-o para humilhar. Não lhe passava pela cabeça que o cunhado se ia deveras embora. Hipólito parou e, olhando fixamente para a mulher, disse:
- E consentes que se diga isto ao teu marido e apoias. Dezanove anos contigo e nunca mudaste.
Ficou na rua, ofuscado pelo brilho do Sol, cerrando os punhos para se controlar. Atrás ecoavam ainda as últimas insolências. Afinal, uma delas sentenciara, com a concordância das outras, que «podia não voltar». Sempre era um argumento a que se agarraria para justificar ao mundo, se é que tinha alguma vez de se justificar.
Errou, durante minutos, sem destino e reparou que, apesar de tudo, assacava-o uma fome canina, velhíssima, que a mesa parca das Padillas nunca satisfazia. Eram sempre rações medidas e contadas, resvalando para a avareza. Nunca lhe perguntaram o que desejaria comer, quais os seus pratos favoritos. Não morria de inanição, é certo, mas não havia a preocupação de oferecer coisa saborosa, ainda que caseira e simples. Sempre os mesmos pratos, com uma monotonia triste, devorados à pressa. Mas da cozinha vinha eternamente o cheiro forte de suculentos pitéus, mas que eram para os outros, para o negócio.
Restava-lhe no bolso o dinheiro para os cigarros do mês. Ia gastá-lo todo, pois, uma vez barco fora, ficava a ser um peso sem valor.
Lembrou-se então dum pequeno restaurante português, à Rua do Campo, cuja fama do bife a cavalo lhe fazia crescer água na boca Apressou-se. Durante a caminhada conseguiu acalmar-se e relaxar os nervos. Daí a umas horas, tudo isso já não tinha importância alguma.
A hora da sesta já começara quando se abancou numa mesa ao fundo, com toalha branca, e um criado, de rabicho, acercando-se dele muito atenciosamente. Há muito se desligara daqueles pequenos requintes, embora não o cercasse luxo algum. Consultou o preçário, pediu uma sopa, umas garoupinhas embebidas em molho de limão e o famoso bife, que ia provar pela primeira vez. Como início da sua mudança de vida, não principiava mal. Almoçou realengamente, mastigando devagar a comida bem feita. A miséria da sua alma desaparecera.
Era outro homem quando saiu do restaurante. A libertação avizinhava-se cada vez mais próxima. A Rua do Campo, só atravessada por meia dúzia de cadeirinhas, modorrava na hora da sesta, que continuava. Deambulou ao acaso, entrou no portão do Jardim de S. Francisco e foi sentar-se num banco junto do coreto, onde brincava a pequenada. A aragem do mar convidava à dormência, mas não tinha sono. Torrentes de pensamento acumulavam-se naquela hora da despedida. Numa época mais feliz, viera ali amiúde com os pais. Sob a vigilância da criada, também ali brincara e correra por entre os canteiros, à caça de libelinhas e borboletas. A duzentos metros, quando muito, estava a rua da sua casa, mas não manifestou nenhum desejo de a rever. Ia-se embora sem o perdão dos pais orgulhosos, mas isto já não tinha a mínima importância. As pontes tinham sido cortadas para sempre, o passado morrera. Não fazia mossa alguma saber quem afinal ganhara e quem perdera.
Demorou um olhar intenso para a baía, sob as palhetas dum sol muito doirado, observando a actividade dos juncos e dos tancares, que cortavam as águas serenas. Iria levar consigo a saudade desse panorama da Praia Grande, sempre linda a qualquer hora do dia. Mas também era certo que o homem não podia viver só de paisagem.
No momento em que se ergueu calculou que as mulheres já deviam ter saído de casa para o baptizado. Encetou o caminho do regresso, com o fito de ver a filha, para uma última conversa, talvez para lhe explicar o passo irreversível. Nem sabia bem o que lhe ia dizer, só sabia que não ficaria descansado enquanto não a visse.
A casa estava imersa num sossego completo. Pela primeira vez encarou tudo como um estranho. Desapegara-se dela com espantosa rapidez. Examinou a decrepitude do mobiliário, a sujidade das paredes, que requeriam uma nova caiação. Pairava um cheiro forte de cozinha. Lentamente, subiu as escadas para o primeiro andar e bateu mansamente à porta do quarto da filha. Abriu-a para se certificar se estava ali. Não estava. O espelho, do outro lado da parede, reflectiu a sua figura hesitante, os cabelos desalinhados, o fato amarrotado. Encolheu os ombros. A sua atenção desviou-se para o daguerreótipo que retratava Victorina, ainda vestida com o uniforme do colégio. Não resistiu. Tirou-o do caixilho e meteu-o na algibeira.
Então, lembrou-se do sogro, paralítico e atirado na cama como um trapo velho. Talvez Victorina ali estivesse junto dele, a fazer-lhe companhia. Como não se lembrara disso? Bateu à porta do quarto, ouviu um murmúrio e entrou. Efectivamente, a filha sentava-se na cabeceira, lendo um livro. Pablo Padilla, olhos cerrados, respirava em ritmo silvante. Havia muitos dias que não o via e achou-o tremendamente abatido, mais amarelo, os cabelos grisalhos colados à cabeça seca. Já não recordava em nada o gigante violento, o corpo reduzira-se num feixe de ossos, duma fragilidade impressionante. Vivia imóvel e o seu calvário devia ser dolorosíssimo. Nem a uma mosca meteria hoje medo.
A filha conservou-se sentada, encarando-o como a um intruso. A expressão do rosto era de contrariedade, visto que classificava aquela intromissão como uma violação de privacidade. O elo que a ligava ao avô era tão forte que a indignava olhassem para o doente como uma rês abatida.
Hipólito interessou-se pela saúde do paralítico. Era uma hipocrisia e a filha respondeu-lhe friamente, não elaborando mais para não animar a conversa.
Então, ele disse:
- Victorina, eu preciso de falar contigo. Tenho certa urgência. Vamos lá para baixo ou ali, no teu quarto.
- Não posso abandonar o avô. Está com febre. Se tem alguma coisa a dizer, diga-o já.
- Aqui não.
Victorina cerrou os lábios, teimando na cadeira. Hipólito, já enervado, insistiu. Ela abanou a cabeça, aferrada ao lugar. De repente, explodiu de irritação, impelida não só pela extemporânea intrusão no quarto, como também pela maneira desprezível como reagira quando fora expulso da mesa para a rua. Que respeito podia ter por uma criatura enxovalhada que não sabia ser homem? Ele não era o seu pai. O seu pai era verdadeiramente o avô.
- Não vou lá para baixo, não vou para parte nenhuma. Não posso deixar o avô. Diga depressa o que tem a dizer... Eu tenho que mudar-lhe a roupa... Não vou, caramba!
Hipólito, siderado, fitou-a longamente. Tê-la-ia esbofeteado, não fora o olho subitamente aberto de Pablo Padilla, reflectindo um indizível terror. Controlou-se e disse, numa voz muito clara:
- Durante anos esperei pelo teu amor. Hoje já não me dás margem a mais ilusões. És como as outras... Dura, empedernida, integralmente do mesmo quilate. Falhei. Não me resta mais nada, assim.
Naquele instante, Victorina não atendeu para o significado das palavras. Ostensivamente, limpou a testa e a barba do paralítico, que se estertorava em tosse. Aqueles gestos de ternura foram de mais para Hipólito. Bebera «até às fezes o cálix da amargura», na expressão favorita dos escritores românticos. Virou as costas, sem mais palavra, descendo as escadas em atropelo, momentaneamente cego. Fechando a porta da rua com estrondo, jurou apenas que nenhuma força humana o poderia obrigar a transpô-la de novo.
Enveredou por atalho e ladeira escura, em direcção ao Largo de Santo António, descendo depois para a «cidade chinesa». Ia a caminho do hotel, na zona do Porto Interior, onde Gonçalo Botelho o aguardaria. No trajecto não reparou nem cumprimentou ninguém, a atenção fixa no vago, a imagem da filha diante dos olhos. A certa altura, apalpando o bolso, deparou com o daguerreótipo da Victorina. O seu primeiro impulso foi desfazê-lo em pedaços. Mas alguma coisa o deteve, apesar da cólera que o atormentava.
No hotel, caracteristicamente chinês, plantado em rua estreita e empedrada, entre uma loja de algibebes e uma drogaria, nem a menor sombra do padrinho, mas nem por isso foi menos bem recebido. Havia um quarto largo à sua disposição, com certos requintes, mobilado a pau-preto, uma enorme cama de ópio a dominar. Botelho devia ali ser bem conhecido. Veio o chá e uma criada graciosa e muito pintada a servi-lo. Esta transposição súbita para um mundo diferente auxiliou-o a dissipar a negridão que trazia na alma.
Lavou a cara e, como o padrinho tardava, estendeu-se na esteira limpa da cama, de antemão preparada. A criada, amável, perguntou-lhe se desejava uma pitada de ópio, pois tinha os cachimbos à disposição. Negou-se, com certo desapontamento dela. Logo surgiu um criado, a trança recentemente penteada e ar asseado, a perguntar-lhe se preferia uma massagista ou uma cantadeira ou, então, uma «flor». Respondeu amavelmente que não. As pálpebras pesavam-lhe e desejava dormir. Os dois empregados afastaram-se pesarosos, perdida a gorjeta. Hipólito acomodou-se e adormeceu.
O sono retemperou-o. Acordou, estranhando o ambiente, como se sonhasse. No quarto do lado jogava-se o tin kao, por entre a algazarra de vozes masculinas e femininas. De algures chegava o odor insofismável do ópio, misturado com o do sândalo. Como pano de fundo trinava o dedilhar harmonioso dopei-pá, acompanhando uma voz falsete de cantadeira. Da rua subiam todos os rumores duma cidade chinesa, os pregões dos vendilhões ambulantes, o estalar de tamancos nas pedras da calçada, o estralejar de panchões votivos, a plangência do alaúde do ceguinho, oferecendo-se para «cantar» a sina. Estava ainda em Macau, mas já muito longe de tudo o que lhe era familiar.
Em rebuliço, apareceu Gonçalo Botelho, com o seu criado, trazendo embrulhos e uma maleta de viagem. Alegremente, gritou-lhe:
- Tu a descansar e eu afanosamente a trabalhar para o teu futuro. Trago-te roupa e tudo que é necessário para um homem viajar. O que faltar comprarás em Xangai. Quem me visse concluiria que era eu quem partia.
- Obrigado. Bem sabe... nas minhas circunstâncias...
- O resto da bagagem já está no cais. Vamos jantar e depois sairemos cedo para bordo. Conheço o capitão do barco e o purser e eles não objectarão que embarquemos antes da hora normal.
Assim se procedeu. Homem metódico, Botelho reviu, de novo, os papéis de viagem de Hipólito, entregou um envelope contendo dinheiro em notas e cheques para descontar, um saquinho de libras esterlinas, cartas de recomendação a amigos e parentes da falecida mulher, de quem nunca falava. Satisfeito pela verificação de que tudo estava em ordem, encostou-se finalmente no espaldar desconfortável de pau-preto. Extraiu dois charutos da algibeira interna do casaco e o fumo evolou-se, abafando o cheiro do ópio. A conversa descaiu para a grande cidade que seria o centro da existência nova de Hipólito Vidal.
- Xangai é uma metrópole extraordinária, em crescente desenvolvimento. Oferece imensas oportunidades para quem esteja decidido a trabalhar. Mas tem cautela, há toda espécie de gente, de todas as raças, que se dedicam ao conto do vigário. O meu maior desejo é que tenhas sorte e recuperes o tempo perdido. Não podes falhar desta vez...
Era mesmo, não podia falhar. Nem regressar, se é que regressaria, mais pobre e destruído que nunca. Ninguém podia partir cavalo e voltar burro. Enquanto escutava a longa prelecção, ia adorando em silêncio, aquele padrinho generoso, que lhe dava a última oportunidade. Não, não o desiludiria, isto prometia, com todas as veras do coração.
Interrompeu-os a criada que veio dispor da mesa para o jantar. Cheia de dengues, vistosa e sorridente, espalhou a sua graça terra-a-terra, para a distracção dos homens. Quando os deixou, depois de encher copos de cerveja muito gelada, Botelho indagou, fitando o rosto onde ainda não se tinham apagado de todo os vincos da tensão que o sacudira o dia inteiro:
- Tens alguma coisa a dizer, antes que te esqueças de vez?
- Sim, é a propósito da Victorina. Parto muito, muito zangado com ela. Repeliu-me outra vez, com uma inqualificável insolência. Vai levar o seu tempo para esquecer a afronta. Ela não quer nada comigo, mas, de qualquer maneira, é minha filha. Vai ficar sozinha.
Cerrou os punhos, num tremor de cólera e impotência, revendo a cena no quarto do paralítico.
- Não é bonita, tem a magreza de palito e aquele defeito no olho. Ser-lhe-á muito difícil casar-se, vai penar uma vida de solidão. Receio que se transforme numa mulher azeda, rancorosa contra a sociedade, como o resto das Padillas. Já uma vez lhe pedi, padrinho, e torno a pedir-lhe. Ajude-a, se ela alguma vez apelar por si.
- Farei tudo o que puder, descansa. Talvez vocês se juntem um dia, quando todo este vendaval passar.
Hipólito replicou com firmeza, num tom de voz desconhecida para Botelho:
- É inútil. Quebro os laços com os Padillas. Ela está contaminada pelas outras e terá os mesmos defeitos. Não quero que mais nenhuma Padilla me envenene a existência.
Era a cólera e a amargura a flagelarem-no ainda. Botelho não respondeu para não revolver mais aquela dor.
O jantar veio em tabuleiro, trazido pelo criado de trança imaculada e pela criada graciosa. Hipólito, ainda enfartado do almoço, apenas debicou, mas Gonçalo fez as honras da cozinha. Não dava tréguas ao mutismo do afilhado, tentando agitar-lhe a atenção, sempre vagueando para a melancolia.
Para agradável surpresa de Hipólito, disse-lhe que o acompanhava até Hong-Kong. Precisava duma mudança de ares e aproveitava a ocasião para permanecer na colónia vizinha uma semana, pelo menos. Estava atrasado duma visita aos bancos, por causa dos seus dinheiros, e ao corretor de bolsa, para compra dalgumas acções.
Eram dez horas quando o mais velho assinalou que já podiam seguir para o barco. Apontando para os embrulhos, disse:
- Vai mudar agora de roupa, desde as cuecas até o fato. Os trapos que trazes entrega-os aos criados, que os irão vender ao algijebe. Vida nova, fardamenta nova. É o melhor disfarce que podes levar, se não queres que te conheçam.
Finalmente, Hipólito riu-se. Obedeceu, com discretas exclamações de júbilo. Até dos sapatos, à sua medida, o padrinho não se esquecera. Grande e generoso homem aquele, empenhado em salvá-lo da permanente infelicidade. Examinou-se ao espelho e gostou do figurino. Meão de altura, um bocado gordo, os cabelos recuando no alto da testa. O fato emprestava-lhe um ar chique que há quase duas dezenas de anos não conhecia. Recuava para os tempos austeros mas despreocupados da Rua Formosa. Os sapatos condiziam, bem como a camisa de colarinhos duros e a gravata. Com o dinheiro na algibeira, sentiu-se rico e confiante. Não ia desembarcar em Xangai pelintra e esfomeado.
Um pormenor chamou então a curiosidade de Botelho. Foi o retrato de Victorina, que escorregou para o chão. Apanhando-o e mostrando-o, Hipólito murmurou:
- É para recordar, de vez em quando, a filha que queria ter e nunca tive.
O trajecto do hotel para o cais não durou dez minutos. O adeus cidade realizou-se com toda a simplicidade e embarcaram, sem terem a certeza se foram ou não reconhecidos. Hipólito preferiu recolher-se à cabina e ali ficar à espera que o barco levantasse ferro. Naquele instante não o dobrava qualquer saudade por tudo que deixava para trás. Apenas alívio. Puxando do papel, caneta em riste, iniciou a carta para Tovar.
Victorina apercebeu-se de que algo de anormal tinha acontecido quando a mãe, a avó e as tias irromperam pelo quarto, sem se importarem com o doente, que tossia, devorado por uma febre intermitente. Interrogaram sobre o pai, que ainda não havia regressado. Contou o que sabia, omitindo apenas a troca de palavras azedas.
Preocupada com o avô, não assistiu ao conciliábulo das mulheres, indignadíssimas com o facto espantoso de Hipólito se ausentar de casa sem dar a mínima satisfação. Nenhuma ainda encarara a possibilidade dum abandono total, de tão habituadas à sua abulia e falta de iniciativa.
O domingo decorreu numa fúria crescente. Cesaltina, histérica e ofendidíssima, imaginando o marido bêbedo e pespegado com uma «pega» qualquer, a mãe e as irmãs a acirrarem-lhe o mau humor com insinuações dolorosas. A ausência de mais uma noite acabou por alarmar. Um homem caseiro e sem cheia não passaria quarenta e oito horas colado a uma «pega». Na segunda-feira, Cesaltina, obrigando Victorina a acompanhá-la, dirigiu-se ao escritório do advogado. Este, que não recebera ainda a carta de Hipólito, mostrou-se deveras surpreendido e aborrecido, porque estava sem o empregado valioso. Apelou logo para a autoridade policial, que prometeu investigar imediatamente. Foi só nessa noite que Victorina reparou na falta do seu retrato e comunicou-o à mãe. Não tinha levado nada da casa, excepto o daguerreótipo, foi a conclusão. Victorina ficou sucumbida e, sem saber porquê, imensamente comovida, as últimas palavras do pai a soarem insidiosamente.
Chamadas pelo Dr. Tovar na terça-feira, a nova rebentou nos ouvidos das duas como eco de trovão.
- Fugiu... Abandonou-nos - murmurou Cesaltina, pregada à cadeira, como chumbo.
Ao mesmo tempo chegavam notícias das investigações infrutíferas da polícia. Perante a carta, já não havia razão de elas prosseguirem. E averiguações em Hong-Kong também seriam inúteis, visto que ele escrevera que «ia para muito longe».
O Dr. Tovar não leu todo o conteúdo da carta para as ouvintes esmagadas. Hipólito pedia desculpas do transtorno, mas não encontrara outra solução. Descrevia o inferno em que vivera junto dos Padillas, privado do amor e da ternura. Mostrara a extensão da sua desilusão quanto à filha, o único motivo por que não praticara o acto mais cedo. Embora magoado, o advogado não podia esquivar-se à simpatia pelo pleito do seu antigo subordinado.
Cheia de vergonha, Victorina volveu-se suavemente para a mãe e disse:
- Mamã, não incomodemos mais o Sr. Doutor. Ele já nada pode fazer. Vamos para casa.
O advogado impeliu-as para a porta, ainda influenciado pela carta, e, quando se certificou de que elas já não o escutavam, comentou, a meio tom:
- Cavou... Com tais viragos e os da casa, eu também faria a mesma coisa.
Numa terra pequenina, onde tudo se sabia, o novo escândalo de Hipólito Vidal repercutiu-se com sabor duma mórbida curiosidade. Durante dois dias não se comentou outra coisa nas ruas, nos clubes, nas reuniões familiares, nos adros das igrejas da «cidade cristã». Se as Padillas, ao menos, se calassem. Mas a sogra e as cunhadas não se continham, indo de porta em porta, lançando mais achas na fogueira. Expunham o carácter de Hipólito como um monstro perverso, sevandija hipócrita, que, em público, se mostrava afável, tímido como um cordeiro, mas que, em casa, era uma espécie de tiranete, sobretudo depois da doença do pobre Pablo Padilla.
As opiniões dividiram-se. Os puritanos censuraram-lhe a conduta. Mas a maioria, sem se manifestar abertamente, simpatizara com a causa de Hipólito. Os Padillas, por mais esforços que fizessem, mantinham a mesma fama, estavam rotulados. E o homem manso, retraído e apagado, que fora Hipólito, ganhou certa aura de herói, por se ter livrado daquela família endiabrada.
O acontecimento atingiu rudemente Cesaltina. Sentiu-se envergonhada, tendo perdido a «face» perante a sociedade. Vestiu-se de luto e evitou o máximo aparecer em público, como uma viúva inconsolável.
De busca em busca, pergunta aqui, indaga acolá, chegou-se a saber a hora precisa em que embarcara para Hong-Kong. Se partira de casa, sem levar nada, é porque alguém o teria ajudado. Não foi difícil descobrir que a pessoa que o acompanhara até Hong-Kong fora o próprio padrinho, Gonçalo Botelho. Como não tinham pensado há mais tempo nele? O segredo afinal estava com ele, esse homem devasso, que vivia com imensas mulheres e fazia da sua chácara um voluptuoso lupanar.
Acicatada pelas irmãs, Cesaltina resolveu acompanhá-las. Foram as quatro mulheres, de rompante, até a Areia Preta, investindo com o peso da sua indignação, Victorina atrás, obrigada a segui-las. Botelho, que se metera no seu sossego, não se comprometendo com nenhum comentário acerca do afilhado, viu-se, de repente, cercado e na pior altura.
Encontrava-se a gozar as blandícias duma tarde de domingo, com uma bela companheira, a sua mais recente aquisição. Aquela invasão, ensombrando a sua privacidade, contrariou-o, mais quando não suportava as Padillas, a quem atribuía a desgraça de Hipólito.
Não conhecia bem Victorina. Viera com um vestido caseiro, sem o cuidado duma apresentação melhor e sem óculos, que se tinham partido na véspera. As madeixas de cabelo a desprenderem-se do penteado arranjado à pressa, o olho estrábico a dominar a face azeitada de suor, estava, na aparência, o pior possível. Mas Cesaltina queria era realçar a desgraça em que o abandono de Hipólito a deixara a ela e à filha. Quanto mais esta se mostrasse feia e desmazelada, melhor contribuiria para a cena.
Botelho, contrafeito, tentou recebê-las com a hospitalidade dum perfeito cavalheiro. As Padillas, porém, não estavam dispostas a permitir que a natural sedução daquele homem as envolvesse. Cortaram cerce com a hospitalidade, os rostos endurecidos, a beiçola arrogante, as narinas infladas de justa cólera. Como sempre sucedia, as duas irmãs mais velhas começaram com perguntas atrevidas, em tom agressivo. Botelho contemporizou, convidando-as a entrar, mas elas, em conjunto, negaram-se. Havia de ser ali mesmo, no jardim, pois eram mulheres honestas e cristãs para entrar numa casa de passe. Exigiam respostas concretas, em tom insolente, com o desplante que as caracterizava, vindo directamente do pai. Escoou-se a calma em Gonçalo, o sangue a ferver. Pressentira há muito que haveria de sofrer um contratempo, mas jamais daquela forma, com os basbaques da praia a acumularem-se à cancela do jardim, murmurando uns para os outros:
- As Padillas...
Botelho negou-se a responder, já em tom desdenhoso e superior. Trajando à chinesa, uma luxuosa cabaia comprida, toda azul, onde um dragão bordado a ouro abria as fauces hiantes, era a encarnação dum homem bem instalado na vida, que não tinha tempo a perder com pobretanas. Não era o tutor de Hipólito, não cuidava dele, não podia, portanto, saber onde se encontrava. É claro que não convenceu aquelas mulheres desgrenhadas e assomadiças. Chamaram-lhe na cara de «mentiroso». Subitamente, transformara-se no verdadeiro instigador da maluqueira de Hipólito, que, sozinho, não era capaz de semelhante iniciativa. Botelho alteou a voz e já esbracejava. Vozes agudas crepitavam de todos os lados. A Sr.a Padilla dizia, rancorosamente:
- Estupor... estupor! Ladrão do meu genro!
Como o escarcéu fosse aumentando, a companheira de Gonçalo assomou no alpendre, assustada, sem saber se o barulho a envolvia. A sua presença ainda incitou mais a cólera das outras.
- Não vêem? Ele tem puta em casa. Se não havia de desencaminhar aquele pateta do Hipólito.
Num coro vociferante, incluíram a rapariga nos insultos. Era de mais. Gonçalo, volvendo-se para a amiga, berrou, em chinês:
- Vai para dentro e já...
A moça desapareceu, branca e medrosa. Victorina puxava ora a mãe, ora a avó, ora as tias, odiando o homem que dava azo a isso e à família, que não tinha freio na língua. Na confusão, no entanto, pareceu que Botelho participava no rebuliço, instigando as outras a prosseguir, quando era precisamente o contrário.
Pálido, sentindo que se descontrolava perigosamente, ordenou-lhes que saíssem do seu jardim, pois estavam a violar o seu domicílio, ou, então, os seus criados obrigá-las-iam a isso. O berro intimidou-as e recuaram. Trancada a cancela, porém, ainda ficaram na rua, continuando o chorrilho de invectivas.
Botelho retirara-se para dentro de casa. As mãos tremiam-lhe, frustradas por não serem utilizadas para o correctivo que aquelas criaturas mereciam. A companheira, ainda com os restos de medo nos olhos, trouxe uma toalha fresca, com que lhe limpou o rosto e os braços.
- Ah, Hipólito dum raio! Agora, compreendo-te
Todos estes protestos e berratas não trouxeram nenhum resultado positivo. Hipólito Vidal não regressara, não dera mais acordo de si. Cortada a ligação com Gonçalo Botelho de forma tão infeliz, era impossível saber-se novas dele, se é que as havia.
Decorrida a sensação de novidade, Hipólito deixou de ser matéria para a coscuvilhice. A ninguém interessava um homem insignificante que dera o fora, ninguém perderia tempo em ir buscá-lo para voltar ao redil. Era um facto consumado.
Cesaltina é que não se conformou. Durante meses teve crises de raiva ou queixava-se com ar de mártir. Quando compreendeu que todas estas reacções não alteravam a realidade e que demonstrações de simpatia eram apenas de circunstância, desorientou-se. Porque uma coisa era ser D. Cesaltina Vidal, com o marido a seu lado, e outra ser a «pobre de Cesaltina», a mulher repudiada pelo marido, que desaparecera. Verificou que, se as pessoas a tinham tratado com cortesia, isto muito se devia a Hipólito e ao seu nome, e não por ela ser uma Padilla. Sentiu-se envergonhada, com a obsessão ridícula de que era desprezada e que se riam dela atrás das costas. Temeu enfrentar os Vidais, que deviam deliciar-se com a sua desgraça, prontos para receber de novo o réprobo, uma vez que cerceara com os Padillas. Começou a evitar a rua, onde dizia «já não poder caminhar de cabeça erguida». Ainda não concluíra um ano sobre o incidente, já não saía, senão para a missa e para uma ou outra rara visita.
Em casa era uma fera enjaulada, com explosões de choro. Mas, amiúde, ficava numa apatia doentia, sentada na cadeira, a contemplar um ponto da parede, sem se mover. Por seu lado, as irmãs também não contribuíram em nada para lhe levantar o moral. Pelo contrário, saciavam a sua vingança lembrando-lhe a cada passo que estava agora às sopas delas, como se o dinheiro e a casa de Pablo Padilla não lhe pertencessem também a ela e à Victorina. Avaliou amargamente a importância da presença de Hipólito ao lado dela, porque as irmãs nunca tinham ido tão longe enquanto ele ali morara. A mãe, que fora sempre benevolente com a filha favorita, também agora perdia as estribeiras e aliava-se com as outras filhas, em crítica rude e ofensiva. Não encontrando um bode expiatório, Victorina tornou-se o objecto da sua raiva e tirania:
- Se, ao menos, você casasse e pudéssemos mudar. Mas não... É feia e «pisca». Ninguém quer você. Ah, meu pobre Paulinho... Se tivesse vivido... era outra coisa!
Dias sombrios, sem alegria, monótonos, duma tristeza fúnebre, ruíram sobre Victorina. A mãe, num egoísmo atroz, isolava a filha do mundo. Se não saía, também não queria que ela saísse, porque «a vergonha e o luto eram das duas». A rapariga, que recebera uma educação essencialmente doméstica, para casar, numa época em que nenhuma mulher decente trabalhava em profissão alguma, submetia-se, porque outra coisa não havia a fazer. Para ela só existiam três caminhos: ou casar-se, ou ficar uma solteirona seca, ou ir para o convento.
Victorina aceitou a sua quota-parte no martírio. Acendrou-se a dedicação pelo avô, consumindo o seu tempo. Pablo Padilla ia-se desfazendo aos poucos, penando imobilizado a sua longa doença, sem remédio e cada vez mais abatido, as costas cobertas de escaras. Se morresse depressa, não sentiria toda a extensão do seu calvário. Excepto Victorina, o resto da casa desejava que desaparecesse. Era um empecilho, um cadáver vivo, mas sempre uma boca a mais para sustentar. Cesaltina, moendo o seu próprio drama, estava totalmente insensível pela miséria do pai. As irmãs avarentas diminuíam-lhe os medicamentos, cortavam-lhe os caldos e os fortificantes e qualquer moeda que tivesse Victorina de pedir era arrancada a rogos humilhantes.
Houve mais mudanças. Arrumaram o «espanhol» no pequeno quarto da Victorina. Esta e a mãe transladaram-se para o quarto das tias manda-chuvas, que dava para as traseiras. As duas irmãs instalaram-se no aposento de Cesaltina, enquanto a Sr.a Padilla ficava na mesma, dormindo com a crioula Celeste, que, além doutros serviços, se encarregava de olhar por ela, por causa dos achaques.
Eternamente, pairava em casa o cheiro de bolos e pastéis e carnes assadas, a cozinha e suas dependências sempre em actividade. Às três e meia da tarde, pouco antes da hora do chá, saía um saicó, transportando tabuleiros equilibrados em cada ponta do varapau, a percorrer as ruas, gritando:
- Merenda... merenda.
As hábeis mãos de fada das duas irmãs tiravam bons lucros do negócio. Estavam lançadas e as encomendas não faltavam. Possuíam dinheiro para uma vida melhor, mas não queriam. A casa precisava duma nova caiação, as paredes interiores esboroavam-se, o mobiliário desconjuntava-se e havia o perigo da formiga-branca. Não ligavam importância. Batiam as contas, organizavam uma contabilidade própria e guardavam com sofreguidão os réis e as sapecas, com sôfregos requintes. Justificavam a terrível parcimónia, declarando:
- O dinheiro é para a nossa velhice... Quem nos acudirá quando já não pudermos trabalhar?
Pablo Padilla piorou. Arrastou uma agonia lenta, o coração teimando em não ceder, apesar de tudo. Morreu sozinho, sem ninguém a acompanhá-lo nos últimos instantes, pois Victorina, vencida pelo sono, adormeceu no divã que se estendia aos pés da cama. Manhãzinha, quando a neta se debruçou sobre ele, já estava rígido, o olho que fora são muito arrancado, a fisionomia num esgar de terror. Metia medo aquela expressão distorcida, numa morte que não fora serena.
Victorina chorou de verdade, amava o avô. O resto da casa pranteou em alarido, mas não convenceu a rapariga. Pablo Padilla foi descansar numa campa de 3.a classe do Cemitério de S. Miguel, a mais barata. Até na morte não teve as primícias dum lugar de elite.
Como não prestasse para a cozinha, as «manda-chuvas» ordenaram a Cesaltina que se encarregasse da limpeza. A «princesa» humildara-se, varria o chão e tratava doutras lides domésticas, porque as criadas ocupavam-se exclusivamente da cozinha. Victorina, então, ouviu o seu lamento:
- Se Hipólito aqui estivesse, não se atreveriam...
Pela primeira vez, desabafara a falta do marido. Tal confissão atingiu fundamente a filha, que, em silêncio, já compreendera há muito. Cesaltina dizia-se doente de males indefinidos, recusando médico, ingerindo mezinhas e tisanas da farmácia do pai, guardada com devoção pela neta na cave da casa. Ora faltava-lhe o ar, ora eram os rins ou estranhas nevralgias.
Victorina insistia que ela saísse e desentorpecesse as pernas. Mas cada vez mais se tornava impossível a Cesaltina largar a prisão que voluntariamente construíra para si mesma. Não era apenas a vergonha de ser uma «esposa abandonada e repudiada», mas também porque já não podia apresentar-se bem trajada, com a beleza desfeita destituída dos luxos de antigamente. Ia, sim, à missa, demorando-se na igreja, onde rezava fervorosamente, adivinhando Victorina que implorava pelo regresso do marido.
Duma das vezes voltara muito agitada. Fora confessar-se e colhera uma descompostura, em vez de consolação. O confessor fora o P.e Serafim, homem irrascível, que detestava beatas e o fariseísmo com cheiro de incenso. Ouvindo a sua história desolada, interrompera-a para lhe perguntar se alguma vez reflectira que poderia ter tido também culpas na deserção do marido. Conhecera Hipólito Vidal no Seminário, fora até um excelente aluno, disciplinado, jovem esperançoso que se distinguira pelas suas qualidades de inteligência e bondade.
Um homem não muda assim de pé para a mão, senão em acto de desespero. Portanto, concluíra, ela devia ter contribuído imenso para isso. Foi rude, explodindo o seu mau hálito no rosto esparvoecido da mulher, e ferrou-lhe uma pesada penitência.
Anos rolaram sobre Victorina, sem história nem agitação, como a água estagnada dum pântano, ultrapassando a idade em que as meninas normalmente se casavam. Acompanhava a mãe à missa, ia às compras e fazia recados quando as tias ordenavam. Percorria as ruas, alta e direita como um fuso, com um dengue natural no andar, mas os vestidos de pano barato não a favoreciam, de tão sem graça. Nem os cabelos, muito negros, sedosos e abundantes, impecavelmente penteados, a salvavam no conjunto. Afivelava um rosto rígido e distante, para se defender, como se indiferente a todo o resto, sobretudo quando, a certa altura, descobriu que tinha a alcunha de Varapau-de-Osso.
E isto nascera dum «assalto» carnavalesco a que assistira, numa casa-grande da Praia Grande, onde as tias dirigiam a ceia. Fora, não só por ser da vontade destas, como também porque desejava quebrar com a solidão. Mas logo se arrependera. Como do primeiro baile e doutros raros que presenciara, limitara-se a ser um «jarrão» esquecido num canto da sala. Mas havia pior. Estava-se no momento dos motejos do Entrudo, das chacotas imprevisíveis e das brincadeiras azougadas. Lembrara-se subitamente do seu olho estrábico e agoniara-se, todo o tempo, ao pensar que o seu defeito poderia ser pasto de suprema zombaria.
Quando a festa atingiu o auge, descobriu que era centro de atenções dum grupo de rapazes brejeiros. Sentiu-se extremamente mortificada, porque deles não podia partir coisa boa. De repente, um desses foliões, um tal Frontaria, de fama terrível de estróina e femeeiro, no conceito verrinoso das tias, destacou-se e convidou-a para dançar, com o coro hilariante dos rapazes atrás. Tudo aquilo era cenário para o gozo da sala. Sentiu uma repulsa tão grande que respondeu com um sonoro «não». O brincalhão, desconcertado, ainda disse:
- Mas a menina não dançou a noite inteira.
- Prefiro ficar sentada... Vá divertir-se com outra menina... Há tantas por aqui. Demais, não o conheço.
Corrido desonrosamente, o rapaz barafustou ao longe, no grupo, que rebentava às gargalhadas. Recordou-se do pai, a espreitá-la, anos atrás, por entre as portas, tímido e preocupado. Oh, como gostaria, que ali estivesse naquela ocasião. Durante a noite ouviu falar em varapaus de osso, mas não ligou. Só dias depois, na rua, uns garotitos malcriados gritaram-lhe, na esquina, o epíteto infamante e não duvidou mais. A alcunha colara-se à sua pele como um ferrete.
Não era fria, como aparentava. Dissimulava apenas. Havia um fogo interior que a consumia, em ardências dolorosas que a não deixavam dormir e enchiam-lhe o corpo de suor. Tinha fome de carinhos e a necessidade de expressar a sua natureza meiga. Mas como romper a barreira que a sufocava?
Então, houve um homem que a interessou vivamente. Todas as tardes gingava pelos caminhos da sua rua, os cabelos e bigode frisados, colarinho duro, fato de corte inglês, sapatos de polimento. A frequência desses passeios, à mesma hora, atraiu-lhe as atenções. Primeiro timidamente, depois com mais afoiteza, pôs-se à janela, a esperá-lo. Reprimida pelas convenções, nunca lhe sorriu, nem esboçou o menor gesto, aguardando, com o coração assolapado, que fosse ele a tomar a iniciativa. Mas o cavalheiro corria a rua, batendo o pingalim de castão prateado na perna, afectando um spleen de trinta anos, sem quase nunca elevar os olhos para a janela. Ou, quando o fazia, não a mirava especialmente, os olhos logo distraídos. Durante muito tempo, Victorina acarinhou esperanças. Não era o tipo ideal de homem que gostaria de possuir, mas nas suas condições não havia muito que escolher.
Certo dia, à hora do almoço, escutando o habitual reportório da má-língua, alvoraçou-se quando a tia mais velha se referiu precisamente ao homem que ocupava os seus pensamentos. Ia casar-se com uma das meninas do fundo da rua, um casamento forçado, que nada augurava de bom para ambos. Ninguém perguntou à Victorina por que subitamente deixara de comer. Levantou-se da mesa e fechou-se, para o resto da tarde, no quarto.
Retraiu-se, isolando-se mais ainda desde então. Amadurecera, era o Varapau-de-Osso e estava destinada ao celibato. Nunca ninguém desejaria para mulher uma figura ridícula, feia e vesga.
Notícias concretas sobre Hipólito Vidal estalaram como bomba na cara de Cesaltina, trazidas pela irmã mais velha, toda vociferante e venenosa. Estava bem lançado na comunidade portuguesa de Xangai, pessoa considerada e estimada, com evidentes sinais de prosperidade material. Até então tinham sido apenas boatos, o «diz-se» ou o «parece que». Agora, a fonte de tais relatos era fidedigna e não podia haver dúvidas. Cesaltina abateu-se, não reagindo às irmãs e à mãe, que lhe ordenavam tomasse uma posição. Fazer o quê, ela, tão longe, sem conhecer ninguém.
Foi definhando aos poucos, numa inquietante prostração, como se não tivesse mais interesse em viver. Contraiu uma desinteria, sabe-se lá como, e não lhe valeram as mezinhas caseiras. Faltava-lhe a ciência do pai, o «mestre-china» amigo tinha morrido e Victorina implorou a presença dum médico da medicina ocidental. As tias recalcitraram, porque era gastar dinheiro, mas, desta vez, a vontade da Sr.a Padilla impôs-se. Convocou-se o Dr. Torres, do Hospital de S. Rafael, que acudiu, embora ainda lembrado dos desdéns ofensivos de Pablo Padilla no passado. Não escondeu a seriedade do estado da doente. Pela terceira vez, o espectro da morte visitava aquela casa. Victorina desvelou-se na sua dedicação à mãe, horrorizada com a possibilidade da sua perda, que a deixaria mais só que nunca. O Dr. Torres, apreciando o seu trabalho, disse:
- Tem vocação para tratar doentes. É uma boa enfermeira. Se quiser, tenho um lugar para si no hospital.
Cesaltina estrebuchou, foi piorando de dia para dia. Gemia a todo o tempo, os olhos cerrados, o rosto macerado, pronunciando, a espaços, palavras inarticuladas. Num começo de tarde parecia, subitamente, ter melhorado. Mas não enganava ninguém. Como a gente de Macau costumava dizer, era a «visita da saúde», a despedida. Falou, pediu leite e era a rapariguinha de dezassete anos, alegre e estouvada, a «princesa» mimenta que se recordava dos pormenores da infância e da adolescência. Chamou pelo pai, como se ainda vivesse, inquieta com a sua demora de visitá-la, trazendo-lhe um brinquedo ou um perfume. Nem uma palavra sobre o marido, como se houvesse um hiato na memória. Era patético. Depois, mostrou-se cansada, fixou longamente os olhos na janela, onde flocos brancos de cúmulos singravam a caminho do Norte. Virou-se, de repente, para a filha e disse claramente:
- Ele nunca mais voltará... Eu tive culpa. É um castigo. Chama o P.c Serafim... Quero confessar-me..
Quando o padre se retirou, não abriu mais os olhos, gemendo. Apagou-se lentamente e as suas últimas palavras foram:
- Hipólito...
Findara assim o drama duma outra existência frustrada. Fora bela e ambiciosa, aspirara a uma vida dentro das melhores famílias, mas não soubera conduzir-se, por ser ignorante e fútil. Não fora boa esposa nem boa mãe. Só muito tarde compreendera os seus erros. Foi enterrada, numa cerimónia triste e pobre, junto aos ossos do pai, na mesma campa de 3.a classe, em vez da do filho, em 1.a classe, por ser mais barato.
Seis meses de luto carregado bastaram para conduzi-la ao estado de exasperação. Todo o ambiente da casa amachucava-a, sentia-se abafar nela, como uma prisioneira. Execrava a perene coscuvilhice das tias, que não poupava ninguém, nem suportava uma existência inteira na cozinha, cheirando quotidianamente os mesmos odores da comida, do forno e dos ingredientes. Libertar-se daquela canga era o seu pensamento constante.
Lembrando-se da sugestão do Dr. Torres, encheu-se de coragem, subiu o Hospital de S. Rafael à procura dele. O clínico acolheu-a com genuína alegria e com pena do seu olho estrábico. Aceitou-a imediatamente.
Animada, expôs em casa a situação* Houve um silêncio de estupefacção e, logo a seguir, uma sarabanda colérica. No entender das mais velhas, a proposta do médico fora um atrevimento. Quem julgava ele que Victorina era? Um emprego fora das lides domésticas era indigno para uma jovem prendada de família, demais com os estudos completos no Colégio de Santa Rosa de Lima. E logo enfermeira, uma profissão degradante, promíscua, que lidava com as partes íntimas de ambos os sexos, com sacrifício do pudor e recato femininos. No fundo, bem no fundo, embora não confessassem, todo o interesse na oposição residia no facto de ser um braço gratuito a menos para executar o «negócio».
Ninguém esperava, porém, a teima de Victorina. Fora sempre uma rapariga dócil e obediente. Nunca contrariava, numa dependência proverbial, parecendo-se com o pai quando ali vivia, destituída duma personalidade vincada, à mercê da vontade dos outros. Na luta penosa com as tias, começou a compreender Hipólito. Eram mesmo absorventes, autoritárias, querendo reduzi-la, ainda que não o declarassem, à simples condição de serva.
- Eu não digo que vou ser já enfermeira de profissão. Vou experimentar, aprender. O avô ensinou-me a condoer-me com os doentes. Se verificar que de facto gosto, então poderei decidir. Há tanta gente doente que precisa de ajuda. Eu julgo que sou capaz. Ocupo, aliás, o meu tempo.
- Não tens o tempo ocupado nesta cozinha? Há muito que fazer e muito que auxiliar.
- Não é a mesma coisa...
Venceu, a troco de injúrias. A avó, que era teoricamente o chefe da família, acabou por consentir, mais por cansaço do que por convicção. E uma manhã, Victorina, com o melhor vestido dentre os feios, ingressou no Hospital de S. Rafael.
Nomearam-na praticante de enfermeira. Aprendeu depressa o que lhe ensinaram. A dar injecções, a vacinar, a tratar e entrapar feridas e pústulas, a cumprir a medicação a tempo e horas. Assistiu, mais tarde, a partos e operações. Disciplinada e eficiente, ganhou a simpatia e a confiança dos médicos e a colaboração dalgumas colegas, embora outras, por inveja e ciúme, se opusessem ao Varapau-de-Osso, perante a sua natural vocação.
Em casa continuavam a não lhe dar tréguas as tias, incansavelmente a rebaixá-la. As Padillas, que se consideravam elevadas, pelo contacto, através da cozinha, com as grandes famílias, sentiam-se degradadas. Victorina não precisava de trabalhar fora, não parecia bem de acordo com os padrões do meio em que viviam. Eram sempre as mesmas guerras quezilentas e torturantes, principalmente quando começou a preencher os turnos da noite. Se uma rapariga honesta, de família, dormiria alguma vez fora de casa!
Era decepcionante e desanimador!
Uma manhã, quando acabava o exaustivo serviço no banco, onde tivera de enfrentar uma série de pústulas fedorentas, e na altura em que lavava as mãos, ouviu dois colegas comentar que Gonçalo Botelho baixara ao hospital na tarde anterior.
Desde que fora interpelado violentamente, à porta da chácara, esse homem cortara cerce quaisquer relações com as Padillas. No entanto, era o único que conhecia intimamente o pai. Victorina ficou cheia de curiosidade. Os anos, a ociosidade, a solidão, tinham-lhe adoçado o antagonismo contra Hipólito Vidal. Desprezara-o irremissivelmente no passado, enjoada com o carácter que revelava, pau-mandado do avô e doutros. Depois, odiara-o quando partira deixando-a a ela e à mãe numa situação precária, e mais ainda quando soube que vivia à larga, enquanto as duas penavam pobres, na dependência da avareza das tias e da avó, abandonadas sem defesa, como se o pai só tivesse obrigações e não lhe assistisse o direito de pedir nada em troca. A demissão da mãe, de que era a culpada, e o nome do marido pronunciado nas vascas da agonia impressionaram-na até os arcanos da alma. Que estaria a moribunda a pensar, nessa súbita humildade e resignação? Nunca obteria a resposta. O pai não voltaria jamais, porque tinha a característica dos Vidais de não perdoarem. Mas levara com ele o seu retrato, apesar de tudo.
Agora, depois de tantos anos, estava no mesmo hospital Gonçalo Botelho, o único homem que podia revelar quem era afinal seu pai. Gostaria de falar com ele, mas como a receberia, convencido como estava de que participara activamente numa cena deprimente?
Coube-lhe, dias depois, uma oportunidade de se encontrar frente a frente com Gonçalo Botelho. Fora incumbida de dar uma injecção ao doente. Cheia de hesitação, mas determinada em cumprir o serviço, bateu à porta, pronta para sofrer qualquer palavra ofensiva ou gesto de má vontade. Uma voz firme replicou e ela entrou. Botelho estava sentado numa cadeira-divã, um jornal na mão. Não se mostrou espantado, observando-a intensamente. Trocaram frases formais, permitindo, sem recalcitar, que a injecção lhe fosse inoculada.
- Não sabia que trabalhava no hospital... Está aqui há muito tempo?
- Não... Uns três meses apenas.
- Aprendeu depressa.
- Sim, gosto da enfermagem, mas ainda não passo de praticante. Não decidi, de resto, se serei enfermeira definitivamente.
- Bom, é uma profissão muito nobre. Deve ter vocação para ela. Eu não poderia suportá-la. Médicos, hospitais, doenças... só de longe. Vim para aqui depois de muito instado. O Torres, isto é, o Dr. Torres, tem a mania de que em casa não posso ser tratado convenientemente.
- Tem razão o Sr. Doutor. Quem ali poderia medicá-lo a horas e impor-lhe uma certa disciplina que só encontra num hospital? Concordo em absoluto com o Dr. Torres.
- Ora, ali tinha sempre as tisanas chinesas. Não doem como as injecções e possuem um sabor diferente dos remédios ocidentais declarou, com uma leve ponta de ironia.
Riram-se. Tinham estabelecido o contacto, não havia da parte dele o menor sinal de azedume. Ela encantou-se com as finas maneiras do doente, os traços fisionómicos correctos, apesar das rugas, os cabelos brancos, de setenta anos. Embora abatido com a tuberculose, mantinha ainda uma máscula atracção.
Victorina não podia demorar-se e despediu-se com certa pena. Botelho reteve a sua mão, dizendo:
- Quando tiver tempo, venha visitar-me. Aborreço-me terrivelmente. Em casa tinha muito com que me entreter. Mas o Dr. Torres exige um repouso completo. Mas como matar as horas, olhando apenas para a janela ou para as vigas do tecto e as tábuas do soalho?
- Voltarei ainda hoje, se quiser...
- Óptimo. Cá terei outro entretenimento. Contar o tempo até que regresse. Uma presença feminina adoça mais o isolamento dum doente do que essa monotonia de homens a tratarem-me.
Pela primeira vez, alguém a esperava com interesse. Era uma amabilidade, certamente, mas, de qualquer maneira, muito terna de se ouvir.
Tornou-se visita diária de Gonçalo Botelho, aparecendo sempre que tinha ocasião. Exigindo do doente máximo descanso, o Dr. Torres não permitia visitas, que mandavam fielmente os seus cartões. Abriu excepção apenas a duas mulheres vistosas, de típica beleza chinesa, que nunca vinham em conjunto, como se tacitamente combinassem as horas, para uma não perturbar a outra. Mesmo quanto a estas, só duas vezes por semana e breves minutos. Não demorou muito que Victorina, preenchendo o seu serviço diário no banco, fosse a exclusiva enfermeira de Botelho, naturalmente a pedido deste, rico e benemérito da Santa Casa da Misericórdia, que administrava o hospital.
Na aridez da sua existência, Victorina afeiçoou-se genuinamente ao doente. Ele era um homem alegre e optimista, que não acreditava na sua doença e ficava no hospital mais por amizade ao médico do que por necessidade. Isto afirmava-o, com uma gargalhada, na
própria cara do Dr. Torres, que não se comovia. Havia sempre aquela tosse impertinente e cavernosa. Botelho tinha uma conversa variada, cativante, nunca cansativa. Era um jovem num corpo velho e gasto. Mostrara um prazer de viver e vivera muito mais que tantos outros que conhecia, mais novos. Só que os excessos tinham emperrado uma máquina que até ultimamente parecia incólume.
Victorina, de semblante grave e triste, não resistiu ao seu senso de humor e, se, no princípio, só sorria, acabou por soltar francas gargalhadas, que, para os outros e, sobretudo, para ela própria, eram autêntica surpresa. Punha a mão na boca para se conter e vinha a risada de bom timbre, ecoando no quarto do hospital, enquanto na sua própria casa ninguém a surpreendera.
De início, Botelho acolhera-a mais por causa do afilhado do que por gosto. Era um homem exigente na escolha de mulheres. Não as suportava mal trajadas, sem um toque de coquetismo. Como Victorina se vestia mal, como os óculos demasiado baratos e mal ajustados lhe acentuavam a desgraciosidade do conjunto e lhe impunham mais anos que de facto tinha! Se não fosse o isolamento do hospital, nunca se interessaria por aquela moça-velha, demais quando era uma Padilla.
À medida, porém, que os dias decorriam, pesou-lhe o dó pelo estigma do defeito físico que estragava a fisionomia, acentuado pelo corpo esgalgado de caniço. A essa pena misturou-se depois a descoberta duma personalidade escondida, plena de meiguice e de feminilidade. Como não vira isso mais cedo, que era mesmo filha de Hipólito Vidal?
O contacto diário e a amizade crescente entre os dois não passaram impunes no hospital. Dois meses e a reputação de Victorina resvalara para a lama. O homem depravado, sem o seu harém, constantemente a seu lado, virara as atenções para Varapau-de-Osso, à falta de melhor, para experimentar o esquisito duma solteirona seca como um taco de lenha. Que faziam encerrados no quarto, só conversar? Isto comentava-se, a meia voz, no sector que invejava as preferências de Botelho por Victorina, descendo depois para a «cidade cristã», com os exageros do «disse-que-disse». As tias intimaram-na que se afastasse do «porcalhão que lhe roubara o pai». Resistiu, com ar alevantado e desafiador, menina cada vez mais rebelde. Cumpria o seu dever apenas e estava acima das calúnias. O Dr. Torres, peremptório, defendeu-a contra tudo e todos, rejeitando com asco a maledicência. A «guerra» teve como efeito impeli-la ainda mais para a intimidade de Botelho, a quem já chamava de «padrinho» e ele correspondia com o «tu» familiar.
O Verão ia no fim, com uma aragem que encrespava a pele, quando, numa tarde em que comia laranja, bocado a bocado, Botelho, inesperadamente, disse:
- Pareces tanto com o teu pai.
Até então, jamais tinham falado nele, como se o assunto fosse tabu. Victorina, perturbada, inquiriu:
- Porquê? Julguei sempre que não tínhamos parecença alguma. Conheci-o, aliás, tão pouco. Sou assim tão triste como ele era?
- Não falo em tristeza, mas na alegria, na generosidade do coração.
- Nunca o vi assim...
- É porque nunca lhe deste oportunidade para tal. O Hipólito Vidal, como todos o pintam, não era aquele que conheci. Era um homem de fina sensibilidade, que irradiava simpatia natural, uma vez quebrada a frieza aparente.
- Nunca o mostrou em casa...
Nunca lhe deram ensejo para isso. O teu avô era quem dominava, a sua vontade prevalecia em tudo, vergando quem estivesse sob o seu controle. Abandonado pelos pais, movidos por um orgulho que rasa a insanidade, Hipólito não soube ser senhor de si. Na ocasião, estava desorientado e era muito novo. Submeteu-se porque o destituíram de tudo e fora esmagado pelos acontecimentos. Eu não quebraria, mas, é claro, tive outra educação. E o temperamento varia de homem para homem. O que ele possuía de bom fechou-o para si. Só para raras pessoas ele se abriu. Eu fui um deles.
E a Y Leng também, há muitos anos, mas isso não podia ser revelado à filha, que o escutava com viva atenção.
- Oh, se ele era tão bom, por que nos abandonou, a mim e à mãe?
- É disso que o censuras? Alguma vez avaliaste que um homem não pode ser eternamente generoso sem receber nada em troca? Não tentou ele por várias vezes, junto de ti e da tua mãe, remediar a sua condição humilhante? Que colheu em resposta? Ambas escoucearam-no, é o termo, ainda que duro. Ele próprio admitiu-me que fora um fraco e devia ter actuado de maneira diferente. Mas poderia alguém, às sopas e sob o jugo de Pablo Padilla, reagir doutra maneira, com a vulnerabilidade de teu pai? Acabou por se cansar e perdeu-se num desespero atroz. Apresentou-se-lhe então esta alternativa: ou fugir ou suicidar-se. Escolheu a primeira. E, quando um homem reprimido toma uma decisão tão calamitosa, torna-se perigoso e não volta atrás.
Começou a falar de Hipólito, a descrever um homem cuja personalidade era exposta, pela primeira vez, à filha amachucada. Na boca do padrinho, Hipólito surgia como um homem interessante, dum encanto insofismável, com uma enorme capacidade para o amor e para a ternura. Não completou a descrição naquela tarde, porque se esgotou, excitadíssimo, e uma tosse estertorosa rasgou-lhe o peito. Nos dias seguintes, encontrando-se melhor, Victorina, acicatada por incontrolável curiosidade, crivou-o de perguntas. Tanto quanto pôde, respondeu a tudo, apenas escondendo a existência da Y Leng e’a noite única que passara na chácara, uma noite de integral libertação. Este era um segredo entre homens, que não podia ser compreendido pela filha, criada dentro duma moral convencional, e inteiramente desnecessário para alumiar a alma do pai.
No entanto, Victorina queixou-se, com uma ponta de azedume:
- Se eu fosse o Paulinho... nunca me deixaria. Fui sempre a criança desprezada que ninguém quis. Senti-o desde pequenina.
- Hipólito admitiu que não soube lidar contigo nos teus anos de formação. Houve uma lamentável incapacidade de comunicação de ambas as partes, um facto trágico e mais vulgar do que se julga, que separa os filhos dos pais. Não vamos apontar as culpas, porque é já extemporâneo. O que é certo é que ele nunca deixou de te amar. Mas as tuas atenções só estavam no avô. Se não fosse esse amor, o Hipólito não te pagaria, com tanto sacrifício, os teus estudos para seres a menina prendada que és.
- Oh, não! O avô também contribuiu...
- Nem um avo, ainda que te doa. Como ele sentiu ciúmes da tua devoção pelo avô. Todas as tentativas para conquistar o teu afecto goraram-se. Depois de o teu irmão ter desaparecido, eras o único elo de ligação que ainda o prendia à casa. Desanimou e fugiu. Qualquer homem desesperado faria o mesmo.
- Eu não sabia...
- Tu não sabias nem quiseste saber. Tu... e a tua mãe. Ambas podiam ser tão felizes, porque ele era um bom homem. Paga-se sempre caramente, quando se rejeita a felicidade dum homem bom.
Condoeu-se do semblante desolado de Victorina. Não foi mais adiante. Começara a gostar dessa moça como se fosse a sua filha, a filha que não tivera. Para que então feri-la mais, só para ver a consternação estampada, que o olho estrábico vincara com mais evidência?
Ela murmurou:
- Agora é tarde! Dizem que vive muito bem em Xangai e nestes anos todos não perguntou por mim. Naturalmente, esqueceu-se já de Macau. Possivelmente, terá até uma nova família.
Era disso que Gonçalo Botelho receava. Não queria dar esperanças, quando Hipólito podia ter outros filhos e outra companheira.
- A este respeito nada posso informar. Há cerca de dois anos que não me escreve. Somente no Natal me manda postais à pressa. Mas não lhe quero mal por isso. Eu também lhe devo carta, depois que fui vergado por esta doença. Saldou todas as contas comigo. Xangai é uma grande cidade, cresce a olhos vistos, sobretudo desde o termo da Guerra dos Boxers, e um homem atarefado nunca tem tempo. Andou por Tientsin e esteve alguns meses em Harbin, na Manchuria. Posso perguntar, ainda tenho amigos em Xangai.
- Não, não lhe peça nada por mim. Não quero que ele julgue que, só porque está bem, eu planeei reconciliar-me com ele. Por favor, não. Ele procurar-me-á se se lembrar de mim.
Botelho começou a aparentar melhoras, mas o facto não convenceu o médico. A doença agarrara-se-lhe aos pulmões e não largaria senão quando os desfizesse completamente. Era triste. O Dr. Torres tinha medo duma recaída quando viesse o Inverno cinzento e a humidade atroz de Fevereiro e Março. A medicina do hospital tinha esgotado os meios e não garantia a cura. Com a gentileza dum homem comovido pela desgraça do amigo, aconselhou-o a partir para onde houvesse um clima seco e bons ares da montanha. Suíça ou Portugal? Ambos os países estavam muito longe, as viagens muito lentas, com todos os transtornos e incomodidades para o doente. Então, o Dr. Torres sugeriu o Japão. Havia uma casa de saúde, de renome no país, encravada na encosta da montanha, de clima e ares tonificantes, rodeada de maravilhosa paisagem, onde a temperatura nunca chegava aos extremos. Depois, Botelho ficava de qualquer forma no Oriente, de que não se queria separar. O doente, após hesitação, aceitou a proposta, com pena de deixar a sua chácara.
O mais difícil foi dizê-lo à Victorina. Tão chocada ficou que se sentou com as pernas a tremer, duas lágrimas a correr pelas faces. Um afecto intenso ligava-os e era cruel a separação. Mas resignou-se, com o coração pungido por não se ter aproximado desse homem mais cedo.
Antes da partida, Botelho quis viver os seus últimos dias na chácara querida. Obteve alta do Dr. Torres muito pesaroso, pediu à Victorina que passasse um dia na sua companhia e, ao sentar-se na cadeirinha, ladeado pelo seu criado fiel, dirigiu-se primeiro ao tabelião e advogado Dr. Tovar, onde se demorou. Victorina solicitou dois dias de folga, a partir do dia combinado, trespassada de tristeza.
Numa manhã tomou o caminho da Areia Preta. Ao balançar da cadeirinha, nunca saberia que o pai percorrera mais ou menos o mesmo trajecto, ao procurar consolação junto do padrinho. Esmagada pela melancolia, mal apreciava a chilreada dos pássaros que a iam acompanhando, de árvore em árvore, e o verde austero das várzeas, onde ruminavam búfalos.
Gonçalo Botelho esperava-a à porta, revelando uma impaciência de adolescente que espera por presente. Segurando-lhe a mão, mostrou-lhe o jardim bem cuidado e depois o interior da casa. O luxo e o conforto que já tinham impressionado o pai arrancaram a essa filha abandonada pequenas exclamações de espanto. Pobre da Victorina, que não estava acostumada àqueles requintes, o anfitrião a tratá-la como uma grande dama. Este era, então, o famoso «harém» do padrinho, de que tanto se falava e só muito raros tiveram o privilégio dali penetrar. Havia um subtil perfume feminino, mas a moça não encontrou ninguém. Botelho já fizera as despedidas, no hospital, às suas mulheres, que alternadamente o iam visitar. Nada ali existia que pudesse excitar uma imaginação erótica. Ela admirou a cama de ópio, mas as suas atenções desviaram-se para o piano, correndo os dedos pelas teclas, espantada de que não estivessem desafinadas. Antes de se sentar, apreciou ainda as porcelanas azul e branco, os livros de encadernações ricas. Como vivia bem o padrinho. Ela, que nunca vira uma casa assim, extasiava-se, a cada passo, sem alardes chocantes.
Rodeada de delicadezas do anfitrião e da criadagem, que, na sua simplicidade, farejava uma nova dona de casa, a moça familiarizou-se depressa, naquele primeiro dia ímpar da sua vida. Continuou, acima de tudo, a ser a enfermeira que se impunha e a quem o doente se submetia, com grande emoção para o criado-mor, que acompanharia o amo para o Japão. Diante deste, a certa altura, ela tirou da carteira uns papéis escritos em chinês e disse:
- Mandei-os redigir pelo escriba ambulante. São receitas do meu avô... São tisanas que ele recomendava. São para o A-Kuong lê-los. Está tudo muito claro e ele saberá como preparar. Não sorria, padrinho.
- Nem pareces uma enfermeira do Hospital de S. Rafael.
- Aqui não estou debaixo das ordens do bom Dr. Torres. Vi o meu avô fazer curas milagrosas. Evidentemente que falhou também.
Não pretendo afirmar que estas tisanas terão efeitos decisivos mas poderão ajudá-lo...
- Tens muita confiança na medicina tradicional chinesa.
- Bastante. Irrita-me quando ouço troçar dela, como fruto de ignorância, superstição e charlatanismo. Esquecem-se de que é praticada há milénios. E, se fosse tão má, já não existia o povo chinês. Morria tudo...
Botelho não discutiu mais, enternecido pelos cuidados. Prometeu tomar as tisanas, como menino obediente, e deu o assunto por terminado. Quanto menos invocassem doenças, melhor seria para a sua disposição, que queria perseverar serena pelo dia fora. E as horas decorreram felizes para ambos.
Depois do almoço, enquanto Botelho descansava, a isto obrigado, Victorina passeou pelo jardim, examinou as flores de Outono, em vasos e canteiros bem tratados, a colecção de plantas anãs e cactos, o pombal onde arrulhavam uma dúzia de columbinas. Sentou-se numa cómoda cadeira de verga, instalada na varanda alpendrada, contemplando a doçura da tarde, com desejos de que o dia jamais findasse.
Botelho apareceu, tomaram chá e ele, em seguida, convidou-a para dar um passeio à praia. A viração era suave, havia a frialdade de Outono e ela exigiu, que pusesse um agasalho mais forte. Em passo lento, atravessaram a estrada ensaibrada, pisando depois a areia fina e preta do areal.
O mar límpido, sereno, sem novelos brancos, estendia-se até o horizonte das Nove Ilhas, cortado de juncos na incansável faina piscatória. Não havia ninguém na praia, a não ser algumas silhuetas de pescadores, acocorados nas rochas. Victorina deu o braço ao padrinho, toda cheia de ternura filial. Aquele gesto, tão feminino, nunca o empregara com homem algum, nem o avô, muito menos o pai. O avô jamais permitiria tais pieguices.
Andaram ao longo da praia, indo e vindo, ele chamando a atenção para os pormenores da paisagem e explicando por que gostava tanto do sítio. Era repousante, muito arejado e bucólico. Longe do bulício da cidade, tinha-se ali a sensação de paz e de liberdade. Victorina concordava comovida, contemplando o recorte verde-carregado da colina de Mong-Há, de encontro com os doirados do céu, a anunciar mais um deslumbrante crepúsculo.
Recolheram-se, porque a temperatura descia e a viração soprava mais forte. Ela ia angustiada. A noite avizinhava-se e, a todo o tempo, surgiria a cadeirinha que a devia levar. Quando se instalaram na sala, onde ateava um fogão de lenha aromática, à mistura com pedacinhos de sândalo, Botelho disse:
- Não vás, não estragues a magia do dia, deixando-me na solidão, nesta última noite de Macau. Fica a fazer-me companhia, como uma boa filha. Leve eu, ao menos, uma doce recordação.
- Mas eu não vim preparada... O que irão dizer?
- É isso o que te preocupa? Os preconceitos, a fachada de moralidade a que se liga mais importância que à verdadeira moralidade? É tempo, querida, de te guiares por ti mesma, e não eternamente orientada pelos outros. Tu és suficientemente honesta para que te desonrem. A minha má fama? No fundo, é a inveja, porque tenho a coragem de fazer o que quero e não me submeter às regras. À minha maneira, só tenho feito bem. Que o digam estas aldeias pobres da cercania. Estou em paz com a minha consciência. Fica, porque tenho muito ainda que falar contigo. E, quanto a não estares preparada, eu tenho tudo que precisas.
Victorina corou, mas deixou-se vencer. Que outra pessoa, alguma vez, frisara que desejava a sua companhia? E havia um calor entorpecente naquela sala que a grudava ao assento. Não, não queria sair. Queria ficar era para sempre longe da maledicência das tias, do desdém dos outros e da dolorosa alcunha de Varapau-de-Osso.
O criado-mor trouxe limonada com forte acento de gim. Não se habituara ainda a bebidas alcoólicas e hesitou ao primeiro gole. Achou excelente e prosseguiu. De repente, estava a falar da sua triste vida, do dia-a-dia desesperador com as tias, do ódio com que o cheiro das comidas lhe enchia o coração. Por orgulho, nunca fora tão franca como agora.
- Vou ficar muito só. Já não tenho nenhum amigo e isto aterra-me. Por mais que me vire à procura dum caminho, não encontro nada que me possa safar da minha actual condição. Pensa que não queria ser como as outras? Ter o direito de me divertir, de dançar e não ser o jarrão de todas as festas, de ser amada? Não, não interesso a ninguém. Pensa que não queria apresentar-me melhor, despegar-me destes horríveis vestidos que trago, que me dão uma figura de espantalho? Eu nunca tive uma mocidade normal, os meus anos de jovem já desapareceram. Sei como sou... Não tenho ilusões.
Agitou-se para controlar a revolta. Sem olhar para Botelho, disse:
- Sou muito pobre... e sou feia.
Mais baixinho, com imensa amargura, num desabafo envergonhado, acrescentou: -...e sou estrábica.
Botelho obrigou-a a calar-se com um gesto. Buscava desesperadamente palavras adequadas para consolá-la, para animá-la. O que Victorina requeria era a confiança em si mesma. E também um estímulo.
- Victorina, tu não és feia. Iludes-te se pensas que és destituída de atractivos. És uma mulher encantadora, com quem se tem o prazer de conversar e de estar. Julgas que pediria tanto a tua companhia se não reconhecesse que possuis dotes admiráveis? Há mulheres que nasceram com grandes dons de beleza, outras menos. Mas toda a mulher tem o seu segredo de sedução. Se assim não fosse, então nenhuma mulher feia se casava a não ser pelo vil dinheiro. Nós não podemos modificar o que a Natureza nos deu, mas podemos tirar o melhor partido dele, valorizando-o.
Não estava a ser simplesmente amável. Tivera ensejo, no longo contacto, de descobrir traços correctos naquele semblante trigueiro. Era o olho defeituoso que, monopolizando-o, estragava tudo. Apagava o perfeito nariz dos Vidais, os lábios sensuais da mãe, os dentes brancos e acertadíssimos e os cabelos negros e fulgentes, vindos da ascendência espanhola. E depois, os óculos baratos e desacertados para a cara e os vestidos que buliam sempre com o seu gosto refinado. Não, não era totalmente feia de rosto. Só que o conjunto, acentuando o estrabismo e a magreza, era péssimo.
- Eu nunca contei a minha história. Não fui apenas o conquistador, aquele que teve um acervo de mulheres à sua disposição, que variava de espaço a espaço. Tenho esta glória, tu sabes. Contam de mim coisas mirabolantes. Fui o homem fatal e perigoso, um sedutor de que as mulheres sérias deviam afastar-se como dum empestado. Todos parecem esquecidos de que fui casado. Aos vinte e dois anos apaixonei-me pela Carolina. Não era nada bonita e, segundo o conceito de todos, era realmente feia. Mas gostei dela. Tinha uma meiguice tão envolvente, uma maneira de ser tão doce de tratar que nunca mais a esqueci. Durante uns escassos anos fui muito feliz, duma felicidade que era uma afronta para a «fortuna que não deixa durar muito», como afirmava o Poeta. Veio-lhe o parto e ela morreu com a filha, que também não teve o direito de viver. Deixou-me um vácuo enorme e insubstituível e eu soube que jamais encontraria uma ventura igual. Não voltei a casar e, por isso mesmo, consolei-me numa dispersão de afecto que desejaria dedicar-lhe a ela e à filha que perdi. Rico, por fortuna própria e não só por causa da mulher, vegetei num egoísmo hedonista, revoltado com a sorte. Eu gozo da fama de só ter mulheres bonitas à minha volta. No entanto, aquela que realmente amei, no padrão dos outros, uma feia. Nunca contei a minha tragédia a ninguém, nem ao teu pai.
Os olhos, enevoados por uma saudade intraduzível, perderam-se na dança das chamas do fogão. Victorina respeitou aquela contemplação, com receio de ser uma intrometida.
- Carolina não tinha pretensões quanto ao seu físico. Mas vestia-se tão bem, arranjava-se com tanto requinte, sabia ser atraente à sua maneira. Estes dotes, portanto, não são privilégios só de mulheres bonitas. São de todas as mulheres, se souberem como conduzir-se.
Ergueu-se, de repente, como se o impelisse a necessidade de jugular a tristeza. Sorriu e convidou-a a segui-lo, o rosto algo avermelhado por uma pontinha de febre.
- Vem para cima. Vou-te mostrar umas coisas que gostarás certamente de ver.
Foi, cheia de curiosidade. Tudo faria para alegrar aquele homem de setenta anos que ainda nutria saudades pela mulher, morta há muitas dezenas de anos. Subiram ambos, ele muito apressado, a ponto de se fatigar escusadamente. Em cima, no corredor, sentou-se numa cadeira, a arfar, pedindo que desse uma vista de olhos. Ela não se fez mais rogada, impelida pelo impulso de conhecer melhor a intimidade do padrinho.
Gostou do quarto dele, masculino e severo, onde o conforto se misturava com a ordem. Havia um arranjo que denotava uma mão misteriosa de mulher. Pairava ainda o cheiro de charuto, que estaria impregnado nas paredes, à mistura com perfume feminino. Teria ainda visitas que ela não sabia? Encantou-se com o outro quarto, também ordenado, sem avaliar que o pai ali passara um dos mais felizes dias da sua vida.
- Ficarás esta noite aqui...
Victorina não respondeu, transportada para um mundo tão diferente do que conhecia. Mas reservavam-se mais surpresas. Botelho, segurando-a pela mão, conduziu-a para o quarto do fundo, que talvez há muitos anos fosse o de costura e que denunciava não ser muito utilizado, embora a limpeza e a ordem fossem a sua característica. Dominavam-no duas arcas pesadas de madeira de cânfora que o dono da casa abriu, produzindo as chaves, por artes mágicas. Bem preservadas e guardadas com ternura e respeito, estavam ali rendas, bordados, trabalhos de crochet, toalhas, cobertores e colgaduras lavradas, representando tarefas duma esposa feliz. Havia vestidos, fina roupa interior, leques, garrafinhas de perfume, em cristal, cosméticos e outros objectos femininos de que um marido dilacerado pela saudade não quisera desprender-se. Dentre os vestidos Botelho escolheu um, de brocado azul, já fanado, mas muito lindo, que lhe entregou:
- Veste-o para o jantar. Sou um piegas sentimental e romântico. Quero levar também uma recordação. A minha mulher vestiu-o no último baile a que fomos juntos. Tens também os sapatos. Estão fanados, mas calça-os.
Deixou-a só, foi ao quarto e trajou-se a primor. O canto-de-cisne dum homem requintado. Ao sair, abriu o cofre e tirou dele uma pequena caixa de mogno. Os seus sapatos de polimento rangeram pelo corredor fora, ouviu os movimentos de Victorina no outro quarto e desceu. Mandou acender mais candelabros para alumiar a sala, escolheu o serviço de jantar, os talheres e os cálices de cristal. Os criados, não habituados com aquele tipo de mulher em casa, uma «europeia», estavam aturdidos, mas obedeciam, sem palavra.
Victorina desceu, tímida, pouca segura. O vestido estava fora de moda, era um tanto largo e um bocado curto. Tinha carminado pela primeira vez os lábios, empoado o rosto e penteado cuidadosamente os seus cabelos, presos num alto toutiço. Embora tivesse ainda muito que aprender, o efeito foi favorável. Subitamente, já não parecia a mesma mulher. Só os óculos horríveis continuavam a flagelá-la, a diminuí-la. Os encómios sinceros de Botelho embaraçaram-na e escondeu a sua perturbação atrás do leque de marfim com motivos chineses que ostentava numa das mãos.
Botelho então foi mais longe. Da caixa de mogno tirou um colar de pérolas, que prendeu em torno do pescoço dela. Depois foi uma pulseira de jade cravejada de pequeninos brilhantes que lhe passou para um dos pulsos e, por fim, um anel de ouro, onde fulgurava uma pedra de diamante, que lhe colocou no anelar esquerdo.
- Agora, vê-te ao espelho e diz-me se és a mesma Victorina de sempre.
Ela, estonteada, obedeceu e gostou. Não era nenhum espantalho ridículo, mascarado em dama da sociedade. Sentiu-se animada. Afinal, se vestisse sempre bem, se cuidasse da sua apresentação, podia ter ainda alguma esperança.
Jantaram. Ela comeu bem, ele apenas debicou. Foi um anfitrião digno e conversador, esparzindo boa disposição. Mas os olhos encovavam-se de fadiga, as faces sulcadas de vincos fundos. Ela quase se sentia culpada, mas não tinha coragem de lembrar-lhe a doença quando o via também feliz.
Depois do jantar, sentaram-se num canto da sala, para tomar o café. A exuberância de Botelho diminuíra, havia muitos hiatos na conversa. Ele pediu, então, que tocasse alguma coisa ao piano, com a mesma insistência que costumava fazer com a mulher. Victorina protestou, sorridente, que estava destreinada, pois não o tocava desde que saíra do Colégio de Santa Rosa de Lima. Fora uma boa aluna, que prometia transformar-se numa exímia pianista, só que não tivera mais oportunidade. Ele teimou e Victorina, para o satisfazer, vibrou as teclas, tocando melodias inglesas, leves e sentimentais. Houve falhas que foram perdoadas e palmas acolheram-na quando findou.
- O padrinho estraga-me com os mimos. Julgo estar a sonhar. Quando amanhã acordar, a realidade será mais dura...
- Não vejo porquê. Pensas, porventura, que vou esquecer a alegria que me deste hoje e nestes últimos meses? Não, querida, só se fosse um ingrato. Olha à tua volta. Tudo o que vês, todos os meus bens, serão teus um dia. Alterei o meu testamento. Não, não digas nada. De qualquer maneira, era para o teu pai, mas ele já não precisa. Tu mereceste o meu carinho. És a filha que podia ter tido e morreu. As jóias que trazes no corpo e as que esta caixa de mogno contém desde já te pertencem, bem como o piano e tudo que está nas arcas lá em cima. Guardei-os egoisticamente, mas servir-te-ão melhor.
- Padrinho, eu... realmente...
- Sei o que faço. Estou mais doente do que tu julgas e vou tentar viver, melhorar, para presenciar a tua felicidade. Mas, como tenho que contar com a má sorte, preservo o teu futuro. Minha mulher e eu fomos filhos únicos. Prefiro que sejas a minha herdeira do que entregar os meus bens a parentes longínquos, que cairão sobre eles como lobos esfaimados, eles que rilham os dentes à espera da minha morte. Está tudo regularizado, a partir de amanhã também és a minha procuradora, poderás gozar esta chácara e a casinha do Lilau, que está vazia e à tua disposição. Também nas mãos do Dr. Tovar está um cheque, que é o meu dote para ti.
Com um gesto de impaciência, cortou outro protesto dela. Dirigiu-se-lhe como se já entrasse na função de procuradora. Embora as instruções estivessem meticulosamente redigidas nos papéis que tinha na gaveta da secretária no quarto, queria frisar os assuntos mais importantes. Victorina ouviu-o atentamente, com consciência plena de que a sua existência tomara subitamente um novo rumo.
- Calculo que tudo isto seja muito brusco e confuso para ti. Consulta o advogado Dr. Tovar, que está a par da minha resolução e é amigo meu e de teu pai. É uma pessoa experiente e ajudar-te-á naquilo que precisares. E outra coisa, podes confiar no pessoal da casa. Todos me serviram durante muitos anos e são-me fiéis e gratos pelo bem que lhes fiz. Servir-te-ão da mesma maneira, porque lhes disse que te considerava minha filha. Agora entrego-te as chaves, como guardiã dos meus bens, enquanto não forem completamente teus.
Indicou o destino de cada uma delas e depois calou-se, esgotado. As emoções do dia e a excitação tinham-lhe devastado o corpo, obrigando-o a sentar-se. Ficaram em silêncio, cada um dominado pelos pensamentos.
Naquele momento não lhe interessava a ela a fortuna que caía do céu. Queria pedir-lhe que a deixasse acompanhá-lo para cuidar dele e dissipar-lhe a solidão, que seria muita, em terra desconhecida. Ele também desejava pedir-lhe isso mesmo, mas calou-se por não ser justo. Ela expusera-se sem medo ao contágio e não havia direito de pô-la mais em risco, agarrada a um doente velho e já condenado. Uma palavra a mais e o futuro de ambos jogar-se-ia imprevisivelmente. Permaneceram, no entanto, numa pausa ensimesmada e o momento próprio desvaneceu-se.
Insistiu em conduzi-lo até a porta do quarto e, ali, beijou-lhe as duas faces, controlando as lágrimas, porque ele certamente não gostaria de qualquer prova de fraqueza. Recolheu-se e, na cama, levou tempo para conciliar o sono.
No dia seguinte, quando apareceram para o pequeno-almoço, ambos encetaram uma conversa casual, para mitigar ao máximo a melancolia do adeus. Ele proibira-a de ir ao cais, exigira que a despedida fosse ali, no ambiente bucólico e refrescante da chácara, num lindo dia de sol. Quando a cadeirinha se aprontou na cancela, para a levar, Botelho apresentou-lhe todos os serviçais da casa, dizendo-lhes que ela era a nova dona e deviam respeitá-la com a mesma fidelidade e cooperação que lhe tinham dado.
- Até à vista, Victorina, e sê feliz. E não recuses a oportunidade quando ela te bater à porta.
Beijou-lhe as mãos como um verdadeiro fidalgo e impeliu-a, quase à força, para a cadeirinha. Nem sequer repararam que certos curiosos na estrada, observavam aquele pormenor. Victorina acenou enquanto o viu diminuir-se na distância. Só quando desapareceu à volta do caminho começou a chorar.
A partida de Gonçalo Botelho produziu um vácuo na vida de Victorina. Nem a noção de que, inesperadamente, possuía meios de fortuna alterou o curso dos dias que se seguiram. Simplesmente, não sabia que fazer. Estava desorientada, vergada por uma imensa tristeza. Continuou a ser enfermeira, sem já precisar de o ser. Tinha duas casas à sua disposição, criadagem para servi-la, à espera das suas ordens, mas não conseguia convencer-se de utilizá-las. Tinha a possibilidade de se vestir melhor, mas manteve-se pobre na aparência. Nem a posse duma cadeirinha de uso pessoal modificou o seu porte na rua, nem acirrou especial curiosidade. Para toda a gente era o Varapau-de-Osso, se não na boca, pelo menos em pensamento.
Então recebeu uma missiva do Dr. Tovar para comparecer no escritório. Foi, certa de colher as últimas notícias de Botelho, que se limitara até ali a rápidos bilhetes-postais. A surpresa, porém, foi diferente. O advogado encarou o seu perfil esgalgado, sem mostras de simpatia, e explicou-lhe:
- Tenho uma carta de seu pai.
- Uma carta de meu pai? - exclamou, com intraduzível espanto.
- Sim, Menina Victorina, e bem volumosa. Hipólito mandou-a, pedindo que lha entregasse pessoalmente. Não a enviou directamente para si, com receio de que não lhe chegasse às mãos.
- Ninguém tem por hábito ficar com as minhas cartas...
- Bom... faço apenas o que Hipólito Vidal me solicitou. Estendeu-lhe um envelope pesado e lacrado, o nome dela escrito por extenso com a bonita letra do pai. Não havia dúvida, era dele. Sentiu cócegas de esfrangalhar imediatamente o envelope, mas dominou-se. O Dr. Tovar observava-lhe os mínimos gestos e talvez estivesse a meditar por que carga de água Gonçalo Botelho teria feito em seu favor um testamento. E agora vinha o pai, com aquela inesperada carta. O advogado teimava na mesma atitude fria com que a acolhera, dias antes, para lhe entregar o cheque chorudo e a procuração.
Suportou uma conversa de circunstância por dez minutos e depois retirou-se, ainda estonteada com a surpresa. A caminho do regresso para casa, ao balanço da lenta cadeirinha, abriu a carta e começou a ler:
Victorina
Espantar-te-á certamente esta carta, escrita por um homem que há muito morreu para ti. Dele tens uma imagem odiosa, pois ousou, um dia, virar as costas à família, lançando para trás a sua mansidão, a sua corcova, o ar pedinte de cão escorraçado.
Desse homem nada mais existe. Desde que saí da pocilga dos Padillas, fiquei milagrosamente com a espinha direita. Para esconder a minha falta de cabelo, passei a usar um bonito chino, que me dá uma aparência lavada. Controlei, por artes mágicas, o avanço da barriga, embora começasse a comer desalmadamente. Contradições que não posso explicar e pertencem aos domínios do mistério.
Não vou contar-te o que fiz durante todos estes anos. A biografia não te interessa, os teus pudores ainda virginais ofender-se-iam bravamente e também a tua austeridade de solteirona.
Apenas te digo que esta fabulosa cidade que se chama Xangai me abriu oportunidades que jamais antevia no antro em que morava, em Macau. Tive dias duros, fui obrigado a sacudir a minha doentia inércia, a minha timidez, se quisesse ter os pés firmes
na terra. Pois nesta cidade não se pode sobreviver sem trabalhar com afinco. É uma cidade implacável para os fracos, mas compensadora para aqueles que estão determinados em vencer. Mal cheguei, mudei de personalidade. Era a sensação de estar livre dum fardo, ser senhor inteiro do meu destino. Com surpresa, vi aparecer em mim energias desconhecidas, acompanhadas dum prazer de saborear a existência, como se tivesse nascido de novo. Comecei por matar a fome que trazia, uma fome velha e insaciável de muitos anos. Nunca mais a cozinha da tua casa, boa e suculenta para os de fora, mas de morte lenta para os de dentro.
Nunca mais os bifes transparentes e as hortaliças tísicas da tua avó, nem a água choca das sopas das tuas tias escalavradas.
Nada disso. Durante os primeiros dias da minha emancipação refocilei-me, como um porco imundo, em toda a comida que se me apresentasse em frente. Coisas substanciais, pesadas, fortemente condimentadas e temperadas. Teria engordado desalmadamente se não fosse a luminosa ideia de me disciplinar, passados os arroubos do entusiasmo, e me equilibrar com ginásticas e desporto. Resultado prático, as banhas da minha inércia e vida sedentária sumiram-se, substituídas por febras e músculos rígidos. Tudo acabou. As diarreias crónicas, as úlceras imaginárias e outras mazelas que curava com as horrendas tisanas do teu avô. Nunca mais sofri de coisa alguma, como se de mim expelisse toda a água do esgoto.
Descontei o atrasado em pouco tempo e usufruí a felicidade dum rouxinol solto da sua gaiola quebrada. Principiei a cantar, a pular e a gargalhar, surpreendido até com as nuances da minha voz. O que não gozei, nestes anos todos, longe da mixórdia da tua casa!
A rude luta pela sobrevivência trouxe-me ideias refrescantes. Foi como se um sabonete me tivesse lavado o cérebro e os humores. E aprendi muito. Compreendi que, no palco brutal da vida, a bondade, a contemporização, a lhaneza no trato, o «deixar correr as coisas» e o «não querer fazer mal a ninguém» são interpretados como sinais de fraqueza, e por isso espezinha-se aquele que os ostenta. Pelo contrário, a consideração vai para aqueles que utilizam como armas a violência, a dureza, o cinismo e o maquiavelismo. É uma visão muito pessimista da realidade, mas a prática de todos os dias ainda não mo desmentiu. Tornei-me activo, lúcido e astuto, com planos inspirados que brotavam sem esforço. Meti-me em negócios cuja natureza ninguém me pode censurar - há aqui tanta oportunidade, o que é necessário é saber aproveitá-la - e prosperei. Não vou falar neles, não te interessam. Tenho amigos entre estrangeiros e chineses e sou um membro considerado na comunidade portuguesa. Vivo num cottage muito confortável, na Concessão Internacional, rodeado dum jardim, com relvas aparadas e canteiros coloridos de rosas, azaleas, crisântemos e outras flores. Num dos courts vizinhos pratico o meu ténis, coisa que jamais fiz em Macau, quando vivia no «colete-de-forças» da Rua Formosa ou no inferno dos Padillas.
Confesso que desde que cheguei a Xangai não pensei mais em ti. Vida nova, sensações e ambientes novos foram como se erguesse entre mim e o passado uma muralha. Estiveste morta para mim - o teu retrato era como se fosse de alguém que já tivesse falecido -, como eu estive para ti. Abandonei Macau muito magoado e desiludido. E cheio de ódio e de rancor. Ainda existe muito desse rancor em mim. Há coisas que são marcas de ferro em brasa no coração dum homem. Não sou Cristo para perdoar. Sou apenas um pedaço vil de barro humano.
A carta perdeu então o tom irónico. As queixas esparramaram-se em páginas febris, mergulhadas de ressentimento. Recordou a forma como se processara o seu casamento, a armadilha preparada pelos Padillas, a cumplicidade da mãe, joguete nas mãos cínicas do avô, apesar dos seus protestos de inocência, em que ele não acreditou. Esta suspeita e a falta de apoio da mãe pelos anos fora estancaram-lhe o amor. Fez o resumo da sua existência sombria dentro de casa, sem ternura nem dignidade, apontando o rosário de desfeitas e humilhações. Não escondeu a sua própria culpa de ter permitido que os outros fossem tão longe, à custa da sua fraqueza e degradação. Uma vez quebradas as cadeias, não havia que voltar atrás, nem a carta significava um pedido que ela lhe perdoasse. Estava feliz, habituara-se a Xangai, tinha a sua roda de relações. Não se dispunha a alterar o ritmo da sua vida, porque nada lhe pesava na consciência, a despeito de todas as censuras.
E prosseguiu, sempre no seu belo cursivo, escrito por uma mão nervosa, em papel branco e escolhido:
Sei muito pouco de ti. Durante muitos anos mantive uma correspondência assídua com o meu padrinho. Ele deu-me a notícia desagradável, mas já esperada, do incidente à porta da sua chácara, em que também tomaste parte. O padrinho ficou muito magoado. Eu não podia exigir dele, depois de tanto que me ajudou, que olhasse por ti, como pedira à partida.
Então, como acontece sempre quando se está longe, a correspondência rareou, principalmente por minha falta de tempo, as cartas espaçando cada vez mais, e, por fim, o silêncio. Perdi o contacto directo com Macau e as notícias que apanhava, de vez em quando, na conversa e informações dos amigos, não podiam descrever o panorama real do que ali se passava. Se é certo que também tive o Dr. Tovar a mandar-me novas, uma vez por outra estas certamente não chegavam. Calculo que tudo estará na mesma, pouco se modificou na dormência em que ali se vive Também a culpa é desta cidade de Xangai, um mundo tão febril e absorvente que nos obriga a esquecer o resto do globo As suas espantosas facetas não permitem monotonia, tolhem-nos o tempo e fascinam a atenção.
Sei que o teu avô e a tua mãe morreram. Não posso dizer que a morte deles me alanceasse na altura. Afirmar isso seria uma refinada hipocrisia. Destruíram-me tanto a alma que fiquei indiferente. É triste chegar-se a esta conclusão, depois dos anos que vivemos juntos. Porém, se do teu avô não esqueço as afrontas de que ainda sofro quando me recordo, à tua mãe não quero mal. Não há como o tempo para fazer luz sobre os actos do passado. Ela, bonita e insinuante, tirando a época do namoro, nunca foi feliz comigo. Eu não consegui acertar naquilo que ela pretendia e afinal não era muito. Andámos, desde o casamento, desviados um do outro, sem nos compreendermos mutuamente e sem um esforço para tanto. Se ela me desiludiu por não ser a mulher que sonhava para mim, também eu não fui o marido que ela queria que eu fosse. Fomos dois mundos à parte, dormindo anos seguidos na mesma cama. Se tivéssemos vivido fora do inferno dos Padillas, haveria uma oportunidade. Eu não estaria em Xangai, ela e o meu Paulinho talvez não tivessem desaparecido e tu serias outra. Mas evocar os «sés» não remedeia nada, o que foi feito está feito. Acabou-se.
Às tuas tias e à tua avó, não lhes perdoo, com o mesmo rancor que nutro por Pablo Padilla. Eles, em conjunto, estragaram-nos a ventura, cortaram-nos as asas da felicidade. Continuas a morar com aquelas megeras e tudo leva a crer que, bebendo diariamente das águas delas, tenhas o mesmo perfil agreste, a mesma língua aguçada e viperina, a tecer intrigas e enredos. Com elas eternamente à ilharga, vejo o teu futuro muito negro. És uma virgem trintona e serás condenada a ser um jarrão para todo o sempre.
Se não fosses minha filha, não me ralaria com esta prosa. Mas és, disso não podemos escapar, tu e eu. És, de qualquer forma, a minha herdeira e esta carta uma espécie de testamento.
Estou doente. Nestas andanças, em actividades excitantes que uma grande metrópole oferece e não singulariza ninguém, o meu coração começou a fraquejar. Dirão que foram excessos a causa principal. É hoje uma máquina partida e pode rebentar dum momento para o outro. No entanto, antes de ir para o «reino dos pés unidos», gostaria de deixar algo para a tua reflexão, antes que seja demasiado tarde.
Não estou arrependido de nada e não tenciono modificar a existência que levo. Apenas tenho sido mais prudente e menos ofegante no trabalho. Quero viver mais tempo, mas não vou tremer todos os dias, à espera do cutelo fatal, privado das coisas que me dão alegria, para que a carcaça persista, em estado vegetativo.
Gostaria imenso de te ver, mas pensar que voltaria a ter uma Padilla a meu lado, a envenenar-me a disposição e a recordar tudo que rejeitei, prefiro sacrificar o meu amor de pai, para não ficar supitamente desiludido. Resigno-me a contemplar o teu retrato, à cabeceira da cama, porque ele representa a Victorina dos anos puros do colégio.
Não me conformo, sem que te diga mais umas palavras. A última imagem que me ficou de ti foi muito dolorosa, pois me repeliste sistematicamente. Certamente estarás pior, contaminada pelo ambiente das Padillas, que estragaram a educação que recebeste na Santa Rosa de Lima. No entanto, se existir ainda alguma esperança de me ouvires, escuta:
Afasta-te das tuas tias. Elas, mais do que a avó, guardam muito azedume e fel e não consentirão que a felicidade te bafeje. A casa das Padillas cheira a mofo e a azedo e está impregnada pelo mau hálito delas. Fora, há sol, há flores e toda uma beleza para ser admirada e aproveitada. Lembra-te que a vida é só uma e é uma coisa bonita, se a soubermos fazer bonita. Se pretendes dias luminosos, segue um destino diferente, bate as asas.
Receio que não venhas a casar, trintona como estás. Mas isto não é óbice para melhores dias. Deixo-te dinheiro, acções e outros rendimentos, que te assegurarão uma existência independente, sem preocupações quanto ao futuro. Lavrei já o testamento e está tudo em ordem. Poder-te-ia já mandar algum dinheiro, mas não tolero a ideia de que o gastes com as Padillas. Dirás que são birras dum homem rancoroso, mas é assim que decidi. Depois da minha morte, já não interessa como o empregues, porque já não verei.
Poderás, portanto, vestir-te melhor, sem os farrapos horrendos que usas. Poderás tratar do defeito que te martiriza, em Xangai tem especialistas muito bons dos olhos. E poderás viajar, extasiar-te com novas paisagens. Há tanta coisa surpreendente neste mundo, para além da linha do teu limitado horizonte. Poderás saborear certos prazeres que desconheces e viver simplesmente a vida, sem complicações nem ódios à tua volta. Se a solidão é a tua companheira, que ela, ao menos, seja mais doce. E não acumules ressentimentos como eu, que amargurar-te-ão para o resto dos teus dias.
Não me alongo mais. Se esta carta surtir efeito, a minha alma ficará mais descansada. Termino com a sensação de ter tirado um fardo. O fardo de ter contado como as coisas se passaram do meu ponto de vista. Permanece apenas a tristeza. A tristeza de não nos termos conhecido melhor, dos ensejos perdidos e de não ter atinado com o caminho para nós, os quatro, termos tido uma vida melhor. Tu, a tua mãe, o pobre Paulinho e eu.
Não uses luto quando eu morrer. Luto e negridão é para os desventurados da sorte. Eu andei perdido e renasci. Não mereço, portanto, o preto.
Teu pai Hipólito
Victorina quedou-se amarfanhada. O autor da carta surgia como um homem estranho que não se coadunava com a figura humilde e curvada, ao lado de quem crescera. No começo da leitura esperara por um pai arrependido, gemendo a mea culpa e a prantear o longo silêncio. O que patenteava era a altivez dum homem seguro do que dizia e não arrepiara caminho.
A primeira reacção foi de indignação. As palavras «virgem trintona», «jarrão» e «solteirona» vergaram-na como chicotadas. E não queria vê-la, com receio de ser uma Padilla integral. Cerrou os punhos e lançou a carta pára o chão da cadeirinha.
Perto de casa recolheu-a, decidiu relê-la com calma, decorrido o choque inicial. Ao entrar, deparou com as tias a questionarem mutuamente na sala, mais a avó desgrenhada, ora acusada por uma, ora por outra, por causa duma parcela de contas que não havia maneira de acertar.
Aquelas cenas eram um prato tão quotidiano que já se habituara a não ligar. As vozes sibilantes, em alfinetadas e insultos recíprocos, tinham-lhe, desde há muito, endurecido a sensibilidade. Sabia que depois, no seguimento das quezílias, qualquer das três inventaria um motivo para implicar com ela, para descontar a fúria.
Desta vez, porém, apreciou aquele quadro de gatas assanhadas com olhos observadores. Iria suportar a vida inteira aquele ambiente degradante, só porque era sobrinha e neta, sem outros laços de interesse? Estiolara nele toda a sua mocidade por impossibilidade de fuga. Mas agora...
Encerrou-se no quarto e de novo se debruçou sobre a carta. Apesar das coisas duras que escrevia, a imagem do pai alterara-se completamente. Avassalou-a a pena de não ter tido a sabedoria de avaliá-lo há mais tempo segundo essa imagem.
Ele devia estar doente, muito doente mesmo, para lhe redigir tão abertamente. Ele próprio declarara que era uma espécie de testamento, as derradeiras palavras de alguém que sabia não lhe restavam muitos dias à frente. Foi dominada pelo pânico. Ele não queria vê-la com medo que fosse uma Padilla. Pois ela iria provar que se enganava redondamente.
Nisto entrou no quarto a Celeste, chorosa, a lastimar-se dos maus tratos e das injustiças, por a avó acusá-la de ter surripiado uma costeleta de porco. Ela podia ter fome e estava sempre com fome naquela casa, mas era honesta. Era uma queixa idêntica a tantas outras que fazia diariamente. Victorina abraçou-se à «crioula», compreendendo que, se ela ainda não abandonara a casa, fora só por causa da «sua querida Menina».
- Vamos ter melhores dias, Celeste. Eu prometo... Num impulso, pegou no papel de carta e escreveu uma longa missiva. As linhas brotavam, em letra grande e feminina, inspiradas pelo transe. Agradecia ao pai a carta, e pedia-lhe autorização para juntar-se a ele em Xangai. Desejava tratar dele e garantia-lhe que não lhe faria uma vida amarga. Rogava-lhe humildemente oferecesse ocasião para os dois, pai e filha, se conhecerem melhor e recuperarem o tempo perdido.
No dia seguinte, posta a carta no correio, ficou à espera da resposta, animando a Celeste, ao anunciar um futuro promissor, sem lhe dizer ainda a verdade. Duma coisa estava certa, depois de muito meditar no escuro da noite. Ia-se embora.
O pai despertara-lhe a ânsia de bater as asas. Não se podia esquecer de que tinha dinheiro no banco e seria a herdeira de duas heranças. Seria desdenhar a sorte se se conservasse inerme, recusando-lhe a mão generosa.
Nada mais escapou aos seus olhos. O mobiliário velho e desconjuntado, o soalho roído, as paredes sujas e desfeitas, a falta de conforto e o desmazelo proverbial. A comida pífia e sensaborona, ao contrário daquilo que preparavam para os outros, a avareza torpe. E depois, a média luz que penetrava pelas persianas das janelas nunca abertas, o cheiro perene dos assados e dos bolos e condimentos, impregnando-se na roupa, o dia-a-dia fastidioso e sempre igual. E, mais que tudo, as questiúnculas e a língua viperina flagelando todos, mesmo os que lhes pagavam liberalmente.
A impaciência cresceu enquanto contava os dias. Decidida a partir, sufocava na companhia das tias e da avó, que nada desconfiavam da grande mutação. Mantinham o mesmo tom de aspereza, como se a submissão dela fosse eterna.
Um acontecimento precipitou a resolução de Victorina de sair daquela casa sem aguardar pela resposta do pai.
Passara uma noite fatigante, à cabeceira duma doente difícil e implicativa, que não estava tão mal que requeresse constantemente a presença da enfermeira. Regressava, portanto, irritada, a pensar que já não precisava de aturar o serviço e suportar as impaciências duma velha que, pelo cargo do marido, se permitia ser insolente com o pessoal que a tratava. Talvez ela mesma fosse até mais rica que a criatura azeda.
Mal fechou a porta atrás de si, com desejos de dormir, enfrentou as tias, mão na cintura, em gritaria histérica. Não percebeu, de chofre, aquele acolhimento e mostrou-se surpreendida.
- Ela a fazer-se de tola. Pois fica sabendo que em toda a cidade não se fala noutra coisa.
Tinha sido vista a passear com o «porcalhão», de braço dado, na praia e nos ermos da Areia Preta. E tinha sido vista também a sair da chácara, manhãzinha, e, portanto, passara ali a noite. Não mentisse, era escusado. Tinham-se informado de que nessa noite, em que se supunha estar de serviço no hospital, encontrava-se de folga, a gozar, às escondidas, depravações sem conta. A baixeza e a desonra não podiam ser mais evidentes. Quem havia de dizer, uma simplória, uma sonsinha como ela, podre de luxúria, debaixo dum homem sifilítico e tuberculoso, totalmente degenerado, que até dormia com um arame ou um varapau.
O insulto directo e escusado espinoteou Victorina, que alçou a voz, como nunca o fizera ainda, apontando o dedo acusador. Em vez de a defenderem, como era da sua obrigação, acreditavam nas bocas do mundo e nas calúnias e partilhavam do mesmo coro.
Queixo altivo, confirmou. Sim, estivera em casa dum homem bom e dormira lá. Não pedira autorização porque já era mulher feita e senhora de si mesma. Gonçalo Botelho era seu doente e seu amigo. Não se tinha de envergonhar da noite, porque nada houvera de vergonhoso.
Outra vez não revelou a prodigalidade do padrinho. Custava-lhe que elas tocassem ou tentassem tocar naquilo que lhe pertencia, elas que nunca se tinham preocupado com o seu bem-estar. Gostaria de ver a expressão delas se dissesse que, além do dinheiro de Botelho iria ter toda a herança do pai. Mas absteve-se.
O temor reverencial que nutria desde pequenina fora-se. Defrontava-as direita e encolerizada, o ressentimento há tanto reprimido extravasando em cada palavra. As tias desconcertaram-se, porque já não era a mesma sobrinha submissa que enfrentavam. Sinais de rebeldia já se tinham denunciado quando se tornara enfermeira, mas nada como aquilo. E, porque não tinham argumentos, preferiram teimar no insulto, onde nadavam mais à vontade.
- Não queremos putas aqui.
- Esta casa é tanto minha como vossa. E uma parte do que roubaram ao avô era da minha mãe e, portanto, meu também.
- Atrevida!...
Foi então um pandemónio. Celeste, a «crioula» fiel, pulou escada abaixo, em defesa da menina querida, olvidando as consequências do seu acto, interpondo-se entre as contendoras. Era uma mulher forte e habitualmente calada, mas que nesse momento se tornara ameaçadora. As duas Padillas compreenderam que, se entrassem em vias de facto, ficariam a perder.
Nisto, em cima, no alto da escada, destacou-se a Sr.a Padilla, rígida como uma coluna de austeridade. Tinha ouvido tudo. Victorina moveu o rosto para ela e apelou:
- A avó acredita?
Acreditava. Nunca fora afectuosa com a neta. Nunca a pusera ao colo, com mimos, nunca a consolara quando chorava. Sempre impaciente ou indiferente, com tendência para afastá-la do caminho, como se fosse um empecilho. Sem jamais admiti-lo, alimentava pela neta uma antipatia e não se conformava que fosse ela a viver, e não o seu saudoso e inesquecível Paulinho.
Não respondeu ao apelo. A dureza do seu semblante, porém, não deixava margem a qualquer dúvida. Condenava a neta, sem remissão, pois da própria boca escutara a confirmação de que passara uma noite em casa dum homem imoral e de fama desgraçada. No seu conceito de honra, estava conspurcada, já não era uma mulher virtuosa. Tremia de ira, ao descer pausadamente as escadas, parecendo voltar a ser a mulher desordeira que fora antes de os achaques a terem devastado. Mas, antes que lançasse a definitiva catalinária, tropeçou nos últimos degraus, desequilibrou-se e veio estatelar-se, ao comprido, no chão. Não fora uma queda brutal; no entanto, esparramada, gemeu.
Instintivamente, Victorina dobrou-se para lhe acudir, mas ela repeliu as mãos estendidas, apoiando-se na filha Amparo. A outra tia gritou:
- Não sujes com as tuas mãos a minha mãe.
Vai-te. O teu destino é a rua... ou o convento, para limpar
a nódoa do pecado - berrou Amparo.
Repelida e escorraçada. Ali mesmo se resolveu, esforçando-se para que as lágrimas não soltassem dos olhos. No instante em que erguiam a avó e com dificuldade a transportavam, disse:
- Hoje mesmo deixo esta casa.
- Tal pai, tal filha... A porta está aberta.
Era o fim, já não podia recuar. Subiu as escadas de roldão, ladeando o corpo da avó, e enfiou-se no quarto, seguida por Celeste, atarantada com a precipitação dos acontecimentos, mas decidida a acompanhar a sua Menina até os confins do mundo.
- Para onde vamos?
- Para a casa nova.
Era da chácara que pensava. Estava admirada consigo mesma, pela frieza com que começou a despejar as gavetas do armário e a dispor das coisas que lhe pertenciam. Não havia muito em que consumir o tempo. Secretamente, já tinha preparado a bagagem para ir a Xangai, logo que recebesse a resposta do pai. Era só acrescentar o resto, que não era muito. As pertenças da mãe e a farmácia do avô e os seus apontamentos, guardados com devoção na cave, ficariam para depois. Havia de reclamá-los quando houvesse mais tempo e mais vagar.
Do outro lado da porta zangarreavam os impropérios das tias, assanhadas agora com a deserção da Celeste, que aprontava rapidamente a sua pobre trouxa. A saída desta era a perda dum braço valioso e gratuito para o negócio. Nem ameaças de intervenção policial a dissuadiram de largar a Menina. Fora ela quem a criara e nada deste mundo a impediria de acompanhá-la. Dizia-o com obstinação, embora temerosa do futuro, pois há trinta anos que não conhecia outra casa.
Duas horas depois, uma pequena caravana de quatro cadeirinhas, duas carregando passageiras e outras levando a bagagem, desceu a encosta, em direcção à Areia Preta. Ofendida e estimulada pelo orgulho característico dos Vidais, subitamente desperto, pouco afeito ao perdão, Victorina nem sequer perguntou pela avó. Era a réplica de todos aqueles anos de alheamento e de negligência quanto à sua pessoa.
As tias nem sabiam que Gonçalo Botelho tinha partido pois ao verem o rumo da caravana, berraram:
- Vai... vai para os braços do amante «porco».
Não lhes deu troco, pálida de raiva, mas já incapaz de descer ao mesmo nível. O que interessava agora era apagar os escombros do passado e enfrentar uma existência inteiramente nova. Seguir, apenas, o que o pai tão tardiamente lhe insuflara e a prodigalidade de Botelho lhe permitira.
A instalação na chácara foi provisória, ainda que cómoda. Era muito longe, fora de portas, bom para quem quisesse uma vida repousante e retirada. Não era prática para quem ainda continuasse agarrada à cidade. Adivinhava a que as tias iriam dedicar-se nos próximos dias. Denegri-la e crucificá-la na reputação, inventando relações de amantismo com o padrinho. Planeava defender-se, não correndo de casa em casa, a tentar desmentir as calúnias, mas utilizando o peso do dinheiro, ainda intacto no banco, mostrando que era uma senhora, acima das escabrosas, histórias engendradas por duas velhas conhecidas por tecedeiras de enredos.
Não entrou na chácara vergada por desgosto. Foi com sorriso e genuíno alívio que tomou posse, como verdadeira proprietária, da bela construção e do seu jardim, os serviçais já conhecidos acolhendo-a com vénias e sinais de respeito.
Divertiu-a o pasmo de Celeste, que parecia penetrar num conto de fadas. Resignara-se a ir viver num cubículo de hotel ou pensão mal amanhada, mas o que via excedera todas as suas expectativas. Uma casa completa, com luxos e confortos que ela jamais conhecera. A Menina não mentira quando lhe prometera dias melhores, Mesmo o quarto de hóspedes, que iam partilhar as duas, pois Vicjtorina decidira não tocar no do padrinho em sinal de veneração, Celeste continuou a manifestar o seu espanto, pois jamais dormira em camas de molas, tão fofas. Estava cheia de perguntas, que a Menina foi satisfazendo, já sem interesse de esconder nada. | Durante o serão escreveu duas cartas, uma para o Dr. Torres, em que pedia a demissão do lugar de praticante de enfermeira, prometendo em breve explicar-lhe melhor, e outra para o Dr. Tovar, contando resumidamente o que se passava e pedindo-lhe que, logo que recebesse alguma missiva do pai, lhe comunicasse imediatamente No dia seguinte, em carta longa para Botelho, narrou sucintamente os acontecimentos, agradecendo mais uma vez, pois sem a generosidade dele não seria possível para ela uma mudança tão radical da vida.
Pensou, então, na moradia do Lilau. Ainda não a tinha visto, mas planeou ir para lá viver, apresentando-se no burgo como Victorina Vidal, e não mais como a apagada sobrinha das Padillas. Disse-o à Celeste. Teve pena do ar desolado da ama que a criara, por ver-se separada tão depressa daquelas riquezas. Victorina, gargalhando, consolou-a:
- Vamos continuar a ter as mesmas coisas noutra casa. Alguma vez fiz uma promessa que não cumprisse?
A transferência para o Lilau procedeu-se durante alguns dias. A casa apresentava perfeitas condições de habitabilidade, deixadas por um inquilino escrupuloso. Agradou, embora não tivesse as primícias da chácara. Tinha sala e outros aposentos largos, os interiores alumiados de dia por clarabóia, havia um saguão e um quintalzinho com poço no tardoz. Não querendo tocar em nada da chácara enquanto não lhe pertencesse de verdade, mobilou a nova residência com simplicidade, aproveitando os tarecos que pertenciam aos pais, que mandou transportar por zorra, mais a farmácia do avô, sem nenhuma oposição das Padillas, relembradas de que a «emancipada» poderia invocar judicialmente a parte que lhe cabia da herança de Pablo Padilla por via da mãe.
A incógnita era se iria ou não a Xangai. Arranjar a casa distraiu-a da preocupação crescente de falta de notícias do pai. A aparição de Victorina no Lilau moveu a natural curiosidade e uma indefinida frieza, porque era adventícia no bairro e na categoria social. Sabia-se que a casa pertencia ao «endiabrado» do Gonçalo Botelho e, portanto, confirmava-se o que diziam os boatos. No último quartel, já com um pé na cova, o grande conquistador transformava Varapau-de-Osso em sua amante. Depois de experimentar gostos mais refinados, encalhara no peito raso dessa mulher esgalgada e «pisca». A reputação de Victorina estava em frangalhos, mas ela parecia não se ralar, propositadamente de beiço desdenhoso e altaneiro. Afinal, que importavam as calúnias, se ela tinha dinheiro? Que importava atribuírem a este uma origem torpe e escabrosa, se o principal era possuí-lo?
Veio finalmente uma carta, mas não era do pai. Era do próprio punho do cônsul de Portugal em Xangai, informando-a da morte dele, com pormenores do enterro, pedindo que, logo que pudesse, se deslocasse à grande metrópole por causa do testamento.
Foi um choque para Victorina. Ou o pai não recebera a sua missiva ou não quisera responder-lhe. Ou, então, estaria tão doente que não teria podido fazê-lo. A amargura trespassou-a. Cerceara-se-lhe toda a possibilidade de provar que se arrependera e era já a filha que ele sempre sonhara possuir.
Anunciou o falecimento por circular que se distribuiu pelas ruas da «cidade cristã», mandando rezar uma missa por sua alma na Igreja de S. Lourenço. Foi pouco concorrida, as Padillas não compareceram.
No entanto, teve uma surpresa. Entre a assistência descobriu um casal de velhinhos e uma senhora de meia-idade, trajados com todo o rigor de luto, tanto como ela. Reconheceu-os, embora nunca tivessem trocado um cumprimento ou uma palavra. Eram os Vidais, os avós e uma das tias. Esquisita gente aquela, que se reconciliava, em torno dum cadáver, após trinta anos de afastamento. Afinal, o desprezo irracional não fora tanto contra Hipólito, mas sim contra os Padillas. E, uma vez que ela também se distanciara daquela família, chegavam-se para significar que ainda não era tarde.
Tolhida de espanto, trocou palavras de circunstância e recebeu os primeiros beijos dos avós e da tia. Por que não havia ela de acolhê-los, se também durante trinta anos vivera longe do pai? A reconciliação pública deixou atónitos os presentes e marcou um facto incontroverso. Os Vidais da Rua Formosa aceitavam-na, sem ela o ter pedido, apesar de tudo que corria a seu respeito.
Agradeceu, por escrito, a todos que estiveram na missa e aos avós e à tia redigiu uma carta formal, sem frieza, mas sem demonstração de especial afecto. Não se podia colmatar dum momento para o outro um fosso que os separara por tanto tempo.
Partiu sozinha para Xangai. Acicatava-a uma imensa vontade de conhecer a cidade que modificara o pai, dum verme para um homem de negócios. O Dr. Tovar intercedeu na obtenção da passagem e demais trâmites para a deslocação.
- Não esteja nervosa. Arranjei-lhe um bom barco e uma mudança de ares até lhe fará bem. Vai encontrar Xangai uma cidade hospitaleira, porque Hipólito firmou muitas amizades, a começar pelo cônsul.
O barco era um paquete da P & O, com comodidades nunca imaginadas. Instalada numa cabina de 2.a classe, teve a companhia duma amável missionária inglesa protestante. Houve apenas o embaraço de vinte minutos, mas a inglesa, comunicativa e habituada a viajar quebrou-lhe a reserva inicial. Ambas já eram amigas quando o barco’ troando, zarpou de Hong-Kong.
Enjoou só no primeiro dia. O resto da travessia foi descanso e divertimento. Abandonou o luto para satisfazer a vontade paternal. Os conhecimentos que entabulou logo à mesa das refeições alargaram-se para outros.
Não havia entre os passageiros nenhum português. Só ingleses, americanos, franceses, um casal belga, alguns indianos, grande parte de torna-viagem, outros apenas turistas e outros ainda que iam lancar-se na aventura, atraídos pela cidade prodigiosa.
Nunca se sentiu tão livre. Tentou o seu inglês e o seu francês, ambas as línguas em que se safou menos mal, revelando que as lições aprendidas no Colégio de Santa Rosa de Lima não tinham sido assimiladas em vão. Ficou espantada com a sua própria capacidade de ser simpática. Planta estiolada, arrastada por capricho da sorte para meio diferente, renascia, desenvolvendo qualidades jamais pressentidas.
Participou nos jogos organizados a bordo, comeu comidas estranhas e dançou. Não teve o drama de ser um «jarrão». Os pés acertaram, era leve como uma pluma, revoluteando no salão de baile, com jovens e velhos, solteiros e casados, ninguém se lembrando da sua aguda magreza nem do olho estrábico. Ali não era Varapau-de-Osso, nem teve ocasião disso se lembrar.
Em Xangai, depois de instalada provisoriamente num confortável e discreto hotel de gerência inglesa, visitou o consulado. Ficou surpreendida com a popularidade, a simpatia e o respeito que o nome do pai impunha. Tornara-se, por mérito próprio, numa das figuras de destaque na comunidade portuguesa e todos se lamentavam da sua morte prematura.
Conduzida para o escritório de advogados ingleses, muito empertigados, de rigidez vitoriana, mas eficientes, que administravam os bens do pai, ficou ciente do que ele lhe deixara. Aturdiu-se. Estava uma mulher rica, não uma milionária, é certo, mas com o suficiente para uma vida de largueza. Além do dinheiro contado, havia depósitos com bons juros, acções e interesses em vários empreendimentos e o cottage.
- Seu pai podia ser um milionário, mas gastou muito. Estava no seu direito, o dinheiro pertencia-lhe. Foi um bom cliente desta firma e esperamos que a senhora o seja também.
Recebida a chave da residência, trocou imediatamente o hotel por ela. Esta ia muito além da parca descrição feita pelo pai. Era dum luxo demasiado para ela, ultrapassando a chácara do padrinho, e viu-se embaraçada com o número dos criados, mas não quis privar-se dum estilo de vida à altura do pai. Tinha, a cada passo, a impressão de que era uma Gata Borralheira, a gozar uma fortuna inesperada, sem o Príncipe Encantado. E saber que a mãe e ela podiam ter usufruído daquela opulência mais cedo, em vez da reles e vil pobreza, se tivessem sabido tratar melhor o pai. Para quê, no entanto, recriminações? Para ela confirmara-se o aforismo. Se era certo que não havia bem que sempre durasse, não havia também mal que nunca acabasse.
O receio inicial de que houvesse alguém a disputar-lhe a herança dissipou-se. O pai fora um segundo padrinho. Tivera a sua boémia, mas não se enleara com ninguém. Não tinha outra família. Não se esquecera nunca dela, Victorina. À mesa-de-cabeceira do quarto encontrou o seu retrato, bem como, na parede da sala, um quadro a óleo, em moldura doirada, decalcado do daguerreótipo. Portanto, em espírito, ela reinara sempre naquela casa sem o saber.
Relataram-lhe os últimos momentos de Hipólito Vidal. Afinal sempre lera a carta. Contra recomendação médica, porque não crera que o fim estivesse tão próximo, partira para o hinterland para o seu derradeiro negócio, prometendo que depois da excursão seria o doente ideal dos médicos. Era teimoso e abusou. Voltou em estado alarmante, sem que os amigos lhe dessem a correspondência para ler. A carta da filha perdeu-se entre outras que se acumularam na secretária do seu gabinete. Na noite do desfecho parecia ter melhorado deveras. Estava palreiro e bem disposto. Pediu a correspondência e, com a melhor das intenções, cederam-lhe a vontade. Descobriu então a missiva de Victorina e leu. Ficou excitadíssimo, riu-se e disse:
- A minha filha escreveu-me. Vou-lhe dizer que venha no primeiro barco, o mais depressa possível.
Levantou-se precipitadamente da cama e não chegou a dar dois passos. Tombou para o chão para não mais se erguer. Estava morto já quando tentaram acudir-lhe, apertando nas mãos a carta. Era uma história dramática de que ela não duvidou, pois viu as cartas escritas por ela amarrotadas, como se alguém as tivesse agarrado com força. Ficou com a consolação de que o último pensamento do pai fora para ela.
Demorou-se três meses em Xangai, tempo de sobra para arrumar todos os meandros da herança, sobretudo os interesses que o pai tivera em vários empreendimentos. Bem aconselhada e exercendo o bom senso e sagacidade da idade, foi hábil nas decisões, levando a bom termo os resultados.
Travou muitas relações. Viu-se convidada para as casas particulares, para chás e bailes, assistiu, emocionada, às corridas de cavalos, participou em piqueniques e excursões, visitou o hinterland, fora das concessões. Gozou da hospitalidade do melhor sector da comunidade portuguesa e retribuiu da mesma forma. Nada disso a privilegiaria se não fosse o prestígio do pai.
Naquela sociedade cosmopolita, onde o melhor cartaz era possuir fortuna ou ter a fama de possuí-la, Victorina passou a vestir-se à altura da categoria social recentemente adquirida. As modas, naquela cidade, acompanhavam, apenas com um pequeno atraso, o que havia de melhor e de mais arrojado em Paris e noutras capitais elegantes da Europa e, neste aspecto, Macau e Hong-Kong eram absolutamente provincianas. Victorina aprendeu a trajar-se e a maquilhar-se com dignidade, para diminuir os defeitos do rosto. Consultou o melhor oftalmologista, que, se pouco remediou quanto ao seu estrabismo, lhe receitou uns óculos azulados e perfeitos, que minimizavam bastante o defeito, no conjunto do semblante. Os vestidos, sob a tesoura exímia de costureiros franceses, corrigiram-lhe a magreza, chegando a ser quase elegante. Os seus cabelos, de negro deslumbrante, que faziam as delícias de qualquer cabeleireiro, foram tratados por mãos russas, leves e delicadas. Contemplando-se ao espelho antes de ir à estreia de ópera duma companhia italiana, seguindo depois para uma ceia num restaurante russo, para se embalar com o choro das balalaicas, certificou-se de que já não podiam, com propriedade, apelidá-la de Varapau-de-Osso. E esse milagre devera-o ao padrinho e ao pai.
Mas, de repente, começou a pensar em Macau. A vida cosmopolita e muito cheia de Xangai, em permanente agitação, não consentindo uma existência tranquila, cansou-a. Não fora feita para tal ritmo, com saudades da chácara e da Celeste, que mandava notícias pelo Dr. Tovar, a implorar o seu regresso. Não gostava daquele viver frívolo, em que quase não decorria uma noite sem um jantar, uma ida ao teatro ou a serão musical. Ficando com a obrigação de obsequiar e de receber, tinha a casa sempre com visitas, com muitos amigos de ocasião. Consciente do que era, não acarinhando ilusões, embora afável, suspeitava do calor de certas amizades efusivas e muito rápidas. Mas talvez fosse a característica duma cidade cosmopolita, em que caras novas sucediam num pulsar vertiginoso.
A assiduidade de dois cavalheiros junto dela, cobrindo-a de atenções melífluas, assustou-a. O primeiro era um titular russo, primeiro-secretário de Sua Majestade Imperial Nicolau II, conde Sergei Ivanovitch Obolensky, ou coisa parecida, enorme como um urso dos Urais, bigodeira farfalhuda, cujos gestos a atemorizavam. O outro, um lânguido peralvilho mexicano, Alonso de Basteros, que proclamava aos quatro ventos a sua imensa fortuna e que viera desenfastiar-se para a «Paris do Oriente», para conhecer as bandas misteriosas da China. Bonito, esbelto, com dengues de sedutor encartado, pusera-a de sobreaviso. Já não tinha dezoito anos, era desconfiada e nenhum desses homens a impressionou. Para ela eram ambos caçadores de fortuna, que a encaravam como isca inocente e propícia para abocanharem e livrá-los de possíveis dívidas. Não acreditava nas propriedades, a perder de vista, nas estepes da Ucrânia nem nas minas de ouro da Siera Morena. Na cidade, tão célebre pelas mulheres bonitas, de todas as raças e cores, como se haviam de prender por uma criatura magra e demais a mais estrábica? Talvez os dois cavalheiros fossem sinceros, fossem mesmo aquilo que diziam e proclamavam. Para ela, no entanto, eram apenas zangãos importunos em torno da abelha real.
O mal estava nela, concluía. Tinha o coração seco e indiferente. Perdera as esperanças dum amor sincero, desprezada como fora, anos e anos. Agora que era rica, nem por isso o seu físico, despido de artifícios, melhorara. Se suscitava interesse, era por causa do seu dinheiro, e não por ela mesma. Não se tornara livre e independente para cair noutra servidão bem pior ainda.
Escreveu ao padrinho, pedindo-lhe autorização para vê-lo, e esperou. Gonçalo Botelho, já informado por correspondência anterior da sua ida a Xangai e da morte de Hipólito, respondeu-lhe simplesmente que aguardasse o seu retorno na chácara. Sem o declarar abertamente, recusava a sua visita. Devia estar mais doente, não queria a pena de ninguém, a receita do Japão não resultara.
Sem alardes, fechou a casa, que arrendou chorudamente para residência do gerente duma firma alemã, arrumada a sua situação de herdeira universal, melhor do que podia imaginar, levando encaixotado o opulento recheio do pai, incluindo as peças de vestuário para recordação.
Depois de aformosear a campa de Hipólito, despediu-se das relações e enviou, à última hora, a cada um dos pretendentes um bilhetinho de adeus. Depois embarcou num paquete da Messageries Maritimes para Hong-Kong, agora em 1.a classe.
A sua chegada a Macau foi precedida da sua fama de rica. Victorina confirmou-a na casa do Lilau, com o mobiliário do pai, os seus tapetes, charões e demais porcelana chinesa, quadros e cortinados. O bairro aceitou-a, sem mais reserva, como se tivesse sido ali nada e criada.
As pessoas acharam-na diferente. O banho de civilização obtido em Xangai lançara-a a grande distância da rapariga insignificante, de vestidos pendurados, em suma, da Varapau-de-Osso. Para espanto do burgo pacato e conservador, usou vestidos de cor espampanante e à moda, fazendo alçar as sobrancelhas, sobretudo daqueles que não se esqueciam de que ainda não decorrera o prazo de luto. Carregou as faces com maquilhagem e os lábios tornaram-se dum vermelho muito vivo. Passaria despercebida num meio grande como o empório comercial de Xangai, mas jamais no mundo pequeno da «cidade cristã» de Macau. O desafio foi muito comentado, As Padillas, rilhando, apodaram-na de «Máscara», o vulgo de «Colorido Varapau-de-Osso», a Rua Formosa, porém, não censurou, pelo menos abertamente.
Satisfeito o desafio, sossegou. Os trajos gritantes guardou-os no armário, passando a vestir-se com gosto, mas discretamente. Deixou de ostentar as duas rodelas vivas nas faces e o vermelho agressivo dos lábios. A pintura coadunou-se com a idade. Tinha trinta e um anos e já não era mocita. Não podia ser uma boneca sem cair no ridículo.
O padrinho morreu, sem ter cumprido a sua promessa de regressar à chácara. Victorina pungiu-se em pranto desolado. Nem a noção de que colhia mais uma herança a consolou. Pagara um preço enorme para ser rica, perdendo, com a diferença de escassos meses, os dois entes que mais lhe quiseram bem.
A solidão, que tentara repelir em múltiplas actividades, voltou com todo o seu amargor. Estava sozinha e toda a sua abastança não lhe podia valer perante esta realidade. Tornara-se sisuda e já não a assolapavam as atenções masculinas que recebia aqui e ali. Eram de viúvos ou celibatários de meia-idade, já que os mais jovens tinham outras preferências. Desconfiava deles. Novamente, como em Xangai, resolvera que não iria sacrificar a sua independência, em troca dum casamento, para se amargurar com um marido preocupado em estoirar-lhe o dinheiro. Resignara-se a ficar solteira, resistindo à tentação duma companhia e ao privilégio de ser mãe. Em lides domésticas, seguindo padrões dum quotidiano calmo, entre o Lilau e a chácara, recebendo e visitando pouco, assim consumia os dias, numa monotonia amarfanhante.
Um dia, a campainha tilintou no Lilau, à hora da merenda. Defrontou-se com uma visita com que jamais contara. Era a tia Glória, a irmã do pai. Foi cortês, hospitaleira, tentando adivinhar o significado daquela visita. Serviu a merenda no melhor serviço de chá, de loiça japonesa, a Celeste em volta, mais o criado-mor de Botelho, agora a trabalhar para ela. Cheia de capricho, mostrou a casa, o mobiliário e as riquezas do pai. Vingava-se amavelmente. Nessa noite, a Rua Formosa colheria impressão favorável se a tia estivesse bem-intencionada.
- Sabemos que Hipólito teve grande êxito em Xangai. O teu tio João informou-nos a este respeito quando esteve ali uma temporada. Infelizmente, os irmãos não se encontraram.
Não dizia certamente toda a verdade. O mais evidente seria o pai recusar-se a acolhê-lo, não perdoando os antigos agravos e o ostracismo. Mas para que reabrir feridas, se a interlocutora lhe estendia a mão? Sabe-se lá quanto teria custado ao orgulho dos Vidais colmatar ressentimentos pretéritos.
A conversa estendeu-se, na sala, frívola, sem efusões, de pessoas bem-educadas. À despedida, a tia Glória disse:
- Os teus avós gostariam que aparecesses. O teu tio João foi viver em Hong-Kong e levou a família toda, mais a tia Clarisse e a tia Laura. A nossa casa está muito silenciosa, precisamos dum sopro de juventude para animá-la. Por que havemos de viver separados uns dos outros?
Compreendeu o apelo e foi. Não encontrou nada de especial no casarão em que a mãe tanto sonhara entrar. Tinha um ar pesado, triste, salas enormes e frias, atravancadas de mobiliário vitoriano, rígido e sem graça. Pobre da mãe se tivesse de viver naquele ambiente severo, onde o mínimo ruído faria alçar as sobrancelhas. Tinha razão a tia Glória. O silêncio predominava, sentia-se estalar a madeira do soalho.
Apesar dos esforços de parte a parte, aquela primeira visita resultou pouco. Não houve o calor de família, mas cerimónia e reserva com muitos hiatos, em que não se sabia como preenchê-los. No entanto, de qualquer forma, as pontes foram estabelecidas. Os velhos gemiam de solidão, cada vez maior à sua roda, e desejavam atamancá-la com gente mais nova. Como se Victorina pudesse fazê-lo, ela que sofria também com a solidão.
Decorreram dias, meses, um ano. Sentiu, então, a necessidade duma ocupação diária que a entretivesse. Já não podia voltar à profissão de enfermeira. De ponderação em ponderação, planeou e concretizou a instalação dum atelier de modista, que faltava na sua terra. Sempre mostrara inclinação para confeccionar vestidos e essa vocação patenteara-a no colégio, sendo a melhor aluna da aula de Lavores. Nunca pudera desenvolvê-la, dada a disciplina, a falta de posses e o gosto horrendo das Padillas. Mas elas eram agora um mau sonho, giravam muito longe, com todos os seus venenos. Já não podiam destruí-la, por mais que teimassem.
Com o que aprendera e observara em Xangai e com idas a Hong-Kong com o mesmo fim, instalou o atelier ao alto da Rua Central, perto do renque das lojas dos «mouros», lugar ideal e de fácil acesso. A princípio, o atelier não resultou. Era motivo de curiosidade e de falatório. Numa época em que as senhoras de sociedade não tinham outras ocupações senão os afazeres domésticos, a audácia de Victorina foi criticada com motejos. O conservadorismo das pessoas, agarradas aos preconceitos, preferia os costureiros chineses. Mas apareceram depois as antigas amigas do colégio a apoiá-la e a experimentar o seu gosto. Gostaram do trabalho dela e, de palavra em palavra, os clientes afluíram.
O atelier começou a vingar. Se não dava para enriquecer - o meio demasiado restrito não consentia -, dava o suficiente para as despesas e certa margem de lucro. Para Victorina era, sobretudo, a distracção, a mesma distracção que no passado procurara, tornando-se praticante de enfermeira.
O pior era à noite, quando volvia para o vazio da sua casa, recheada de confortos, mas vazia de ternura, onde as vozes dela, da Celeste e da criadagem não chegavam para quebrar o silêncio e afugentar sombras. Afadigava-se nas horas do dia, para após o jantar poder dormir dum sono só, pesado, sem sonhos nem pesadelos.
Mas nem sempre assim acontecia. Ficava, amiúde, na cama, contemplando o tecto, os olhos em claro, escutando os ruídos da noite, a madeira que estalava, a cricrilada dos grilos pelos cantos, as passadas dos noctívagos na rua, os murmúrios da ramaria das árvores-de-são-josé, o latir do cão do vizinho. E, mais ao longe, os pregões do vendilhão da canja, duma tristeza indizível. Eram noites em que se agitava no leito, o corpo em crepitação, como se um fogo a devorasse, sentindo-se jovem e insatisfeita, com um desejo indefinível, mas tão intenso, de ser acarinhada, que doía.
Toda a disciplina que se impunha a si mesma durante o dia, aparentando frieza e desenvoltura, não admitindo ser arrastada pela imaginação para quimeras irrealizáveis, se desfazia naquele leito solitário. Então, era uma mulher vulnerável e amarga, ciente da injustiça de lhe faltar o amor e a felicidade dum lar.
Quando acordava, movia-se com desalento, assustada com a palidez e as olheiras. Tinha a sensação desanimadora de que estava mais magra e mais estrábica. Combatia logo esta fraqueza, numa luta desgastante. Dizia, para se consolar, que um dia havia de dominar e neutralizar todos estes sentimentos que a atormentavam nas noites terríveis de insónia. Mas, até ali, teria muito que sofrer, vendo o seu corpo secar-se mais ainda, empergaminhar-se, numa perene insatisfação. De que lhe valia ter tanto dinheiro? Invejava, então, as madres, que, refugiando-se no claustro, tinham cortado com todas as ligações do mundo, vivendo só para os caminhos do espírito e da oração. Mas ela não podia fechar-se num convento, o seu sangue vivo e estuante recusava-se.
Foi precisamente nessa noite, em que a crise da sua alma parecia mais aguda, a solidão mais tenebrosa e esmagadora, que regressou a casa carregada de embrulhos, com o material para fazer e preencher o serão. Queria andar, enfrentar o frio, fatigar-se. Era Carnaval, Macau toda se divertia. Ela, que desistira de festas, por se achar já «velha», escolhera embriagar-se com o trabalho, até o máximo das suas forças, para depois estender-se na cama, dormindo duma assentada.
A caminhada era mais dura do que pensara. O frio entorpecente subia das pedras da calçada, o vento ululante penetrava até os ossos, o xaile a escorregar-lhe dos ombros, sem que pudesse evitá-lo, tolhidas
as mãos com os embrulhos. Foi assim que ecoou, no escuro da rua, o grito infamante:
- Varapau-de-Osso! Varapau-de-Osso!
E logo uma gargalhada de rancorosa galhofa. Há muito tempo não ouvia a alcunha vexatória. Julgava até que fora esquecida.
A voz falsete soou-lhe odiosa, as palavras penetraram fundo, como facadas. Afinal, rica ou pobre, seria sempre Varapau-de-Osso. Sem se voltar para desafiar o energúmeno, as lágrimas começaram-lhe a correr por entre os cílios, humedecendo os óculos. Não tinha mãos para pegar no lenço e caminhou às cegas, automaticamente.
De repente, pisou algo de escorregadio e repugnante. Faltou-lhe o equilíbrio, sentiu-se no ar, os embrulhos a voarem, os óculos a penderem-lhe precariamente dum aro na orelha. Depois, um choque violento nas nádegas e nas costas, as saias a levantarem-se, numa visão grotesca de meias pretas até as coxas, enquanto um sapato saltava para o charco. Num instante, tudo lhe escureceu.
Chico-Pé-Fêde, todo bamboleante, debruçou-se para o corpo estendido e imóvel. Estava aturdido, lamentava já a sua graça torpe e cobarde. Acudir-lhe foi a sua preocupação, a despeito das cruciantes dores que esfaqueavam os seus pés. Olhou em torno, mas na rua deserta só fustigavam borrifadas de vento. Respirou aliviado, quando o corpo começou a dar sinais de vida. Perguntou com ansiedade:
- Como se sente? Magoou-se?
Pergunta supérflua, que não obteve logo resposta. O tombo fora sério, mas o volume das saias e dos agasalhos aparara os efeitos da queda. Manchas de lama e viscosidade cobriam-lhe a roupa.
Puxou-lhe as saias para baixo, para ocultar as pernas magras, obscenamente expostas, e ofereceu a mão para erguê-la. Varapau-de-Osso obriu os olhos, sem compreender, a visão turvada. Soltou um gemido, mas sentou-se, acertando os óculos, ridiculamente pendurados duma orelha. As costas e as nádegas pungiam-lhe, ao mesmo tempo que estremecia de frio. Um rosto de homem parecia estar muito perto. Falava e ela, por uns instantes, não atinou com o que dizia. Aceitou a mão para se equilibrar melhor e só então teve a noção real do que se passava.
- Dói-lhe muito?
- Escorreguei... Dói-me, mas creio não ter nada partido. Relanceou em volta, à procura dos embrulhos. Descobriu o sapato mergulhado num charco e soltou uma nova exclamação. Com esforço, apoiando-se na mão de Chico-Pé-Fêde, pôs-se de pé, sem se aperceber do gemido que trespassava a boca dele.
Então, examinou melhor o homem que estava à sua frente. Estremeceu, embora combalida. Aquela presença de vagabundo, no meio da noite tenebrosa, não recomendava nada. Instintivamente apressou-se, mas não era tão fácil mover-se. Se a roubasse, não haveria quem ouvisse os seus gritos.
Chico-Pé-Fêde entregou-lhe o sapato, depois de sacudi-lo da água. Um objecto tão íntimo nas mãos daquele homem, mais parecido com um foragido da lei, ruborizou-a. Agradeceu e calçou-o, num novo esforço de equilíbrio. Depois, sacudiu as saias das manchas de lama.
- Não sei o que aconteceu... Pisei uma coisa mole...
- Lança-se tudo para a rua. Não há respeito pelo transeunte, que se arrisca a sofrer estas desgraças.
- Obrigada... Eu posso continuar sozinha.
A sua figura esgalgada, rígida como um varapau, destacava-se na fímbria luminosa do candeeiro público. Chico recolhia os embrulhos espalhados, a sombrinha. A mulher endireitava o chapéu e lutava com as madeixas de cabelo, que se enroscavam nos ombros, à falta de ganchos perdidos.
- Se me dá licença, eu acompanho-a. Não está em condições de carregar com tanta coisa.
- Não se preocupe. Eu posso levá-los.
Teimou na sua, Chico-Pé-Fêde. Era uma bravata. Uma nova facada nos pés acordou-o para a realidade. Ele próprio não estava em condições de exercer qualquer gesto de cavalheirismo. Num momento, não se atreveu a dar um passo, enquanto a tosse o dilacerou.
- Já disse não se incomodasse. A minha casa é ali mesmo.
- Não... Eu ajudo-a.
Começaram a andar. Ela, desejosa de livrar-se da rua e daquela companhia sinistra e suspeita, avançou com firmeza fingida. Mordia os lábios para não se queixar do baque, pensando no bálsamo com que a Celeste cobriria o seu corpo contuso. Continuava a tentar compor os cabelos. Ele, carregado de embrulhos, amaldiçoava a sua própria gentileza, pois não podia seguir o ritmo do andar dela.
Os pés sangravam, mas persistia naquele masoquismo, como se quisesse redimir-se com o sofrimento duma culpa. Ia aos tropeções. Parava aqui, arrancava acolá. Atrasava-se; foi então que Varapau-de-Osso reparou, pela primeira vez, que manquejava.
- O que é que o senhor tem? Coxeia...
- Tenho os pés feridos.
- Devia ter-me dito... Dê-me os embrulhos.
- Não. Já agora, vou até a sua porta.
- Mas o senhor não pode andar... Não se trata?
Ele repeliu as mãos estendidas, num gesto brusco, e replicou, entrecortado pela tosse:
- Não... Tentei tudo, mas não me curo. Não acredito nos médicos... não acredito em ninguém...
Gritava, com voz aguda, porque outra lancetada de dor alanceou-o, como se uma adaga o verrumasse insidiosamente, das plantas dos pés à cabeça.
O tom pungido diminuiu-lhe a desconfiança. Se tivesse de assaltá-la, já o teria feito há muito. Apesar da barba de dias, os cabelos empestados de sujidade, a cara parecia-lhe familiar. Pelo menos, já o vira antes. De repente, reconheceu-o. Era o mesmo homem que, muitos anos antes, numa festa de Carnaval, lhe pedira a honra duma dança, com desejos de zombar dela! Há um ror de tempo que não punha os olhos em cima dele. Como estava mudado, em andrajos, um imundo, farroupilha!
Talvez estivesse a fazer teatro. Não costumava ser o eterno bobo das festas? O que queria era uns cobres. Relembrava-se dalguns pormenores a seu respeito. Fora muitas vezes mencionado, na mesa das tias Padillas, autor boémio de muita coisa escabrosa. Bastava lembrar-se do caso dos Saturninos. Agora, o pensamento voava para mais longe. Não fora ele o inspirador da horrenda alcunha de Varapau-de-Osso? Não fora ele mesmo que a insultara pelas costas, momentos antes? Olhou-o de soslaio, arrastando-se precariamente. E lembrou-se mais ainda. Não tinha ele também uma alcunha deprimente e humilhantíssima, por causa dos pés, uma alcunha que o devia ferir como queimadura? Estavam quites, portanto. Sem saber porquê, sentiu-se, naquele instante, vingada.
Devia enxotá-lo como se enxota um cão tinhoso. No entanto, faltava-lhe a coragem de abraçar os embrulhos, com o corpo maltratado. Que gemesse à espera duma esmola. Fechou-se num mutismo, indiferente à tosse e uma ou outra interjeição de dor, quando pisava uma pedra mais áspera da calçada.
Chegaram finalmente à porta de casa. Chico-Pé-Fêde encostou-se à parede, todo esgotado, o rosto escondido na sombra. O vento girou, trazendo um cheiro de podridão. Varapau-de-Osso puxou a campainha e, pouco depois, a porta abria-se, alumiada por uma lâmpada de candeeiro, com o perfil da Celeste, transida, em algaraviada, a reclamar contra a sua decisão de dispensar a cadeirinha. Chico-Pé-Fêde passou-lhe os embrulhos, enquanto Varapau-de-Osso procurava na carteira algumas moedas. Tinha pressa de entrar para o calor e fugir ao odor esquisito que pairava mesmo no limiar da porta.
- Oh, não! Não fiz isto por uma esmola... Não sou pedinte O protesto foi tão veemente que ela se quedou espantada. Eram restos, fogachos dum intraduzível orgulho. Nisto, uma tosse violenta rasgou o peito ao desgraçado. Curvado, mal se mantinha em pé, a tremer. Sofria. Varapau-de-Osso sentiu-se incapaz de atirar-lhe com a porta na cara. Sempre lhe prestara a delicadeza de levantá-la do chão e de lhe trazer os embrulhos. Fazia muito frio e ela lembrava-se do rosto de D. Bita, bondoso, com uma palavra de atenção para ela, quando se cruzavam no adro da igreja, por ser filha de Hipólito Vidal.
- Entre e descanse uns momentos.
- Não... obrigado. Isto passa.
- Está um vento cortante... Tome alguma coisa quente e depois...
Ele aferrou-se à parede, com o desespero de não poder mover-se. Via a luz da entrada, a casa tépida e hospitaleira, que o defenderia do vento e da chuva, ainda que fosse por pouco tempo.
- Entre...
Vacilou. Estava nas últimas, com o esforço sobre-humano daquela caminhada. Vencido pelo convite, arrastou-se aos baldões, como um homem embriagado, gemendo baixinho, e chegou ao vestíbulo. A diferença da temperatura foi tão chocante que entonteceu-o e teria caído no soalho, não fora um banco de pau-preto que felizmente aparecera à sua frente.
Celeste resmungou alto, com aquela inopinada invasão. O criado-mor, que, entretanto, surgira do interior, juntara-se a ela na mesma reprovação. Varapau-de-Osso elevou a voz, ordenando-lhes que se calassem, enquanto trancava a porta. Num ápice, o vento sumiu-se e também as borrifadas da chuva.
Chico-Pé-Fêde cerrou os olhos, a cabeça encostada à parede, para dominar a vertigem e a náusea. A miséria e a doença patenteavam-se no rosto devastado, a barba de muitos dias, onde havia já alguns fios brancos. À luz murcha dos candeeiros de petróleo, tinha um semblante patibular, os olhos sulcados de orlas negras, a pele azulina. Tudo nele era sujidade e farrapos.
Celeste e A-Kuong, o criado-mor, fitavam-se, atónitos, um ao outro. Não percebiam como se autorizava a entrada dum vagabundo naquela casa séria, nem por que a Menina, habitualmente tão composta, tivesse os cabelos em desalinho e a roupa enlameada.
Neste comenos, inflamou-lhes o nariz um odor repulsivo que se instalava no vestíbulo. As duas mulheres e o criado dum lado para o outro, vasculhando os cantos, para localizar a sua origem.
- Deve haver algum rato morto, a apodrecer.
- Mas esta casa não tem ratos!
- Então donde vêm?
- Não precisam procurar - disse Chico-Pé-Fêde. Apontou o dedo para baixo e, escondendo as faces na outra mão,
acrescentou baixinho:
- São os meus pés.
O embaraço fustigou Varapau-de-Osso, enquanto instintivamente os outros esboçaram um passo para trás. O desgraçado, tolhido de dores, nem se movia. Os pés pareciam rebentar de inchados, dentro das sapatilhas de lona, manchadas de viscosidade e doutras secreções. Tinham um aspecto minaz, odioso. Era deles que vinha efectivamente o cheiro que se espalhava pelo vestíbulo e pelas outras dependências da casa.
- Isto está um horror! Por que não vai ao hospital?
- Já fui... Não me aceitam mais... Velhas histórias. Maltratam-me... Prefiro morrer. Mas para o hospital não vou. Aliás... já não tenho cura.
A resignação e o desalento patenteados condoeram Varapau-de-Osso. A sua experiência de enfermeira dizia-lhe que estava mal. Não representava, não exagerava, com intuito de suscitar piedade.
- Celeste, uma chávena de chá bem quente e uma manta.
- Não se incomodem. Dêem-me uns momentos e vou-me embora.
Era outra bravata. Estava agoniado, tudo lhe girava em volta, os pés recusavam-se simplesmente a sustê-lo. O esforço da caminhada esgotara-lhe as últimas energias. Estava à mercê da vontade dos outros. Vagamente, ouviu a voz da mulher que tanto humilhara dizer:
- Ninguém está a mandá-lo embora. Descanse. Vou lá acima e volto já.
Chico-Pé-Fêde nem sequer se moveu. Resistia para controlar um soluço. O aconchego daquelas paredes, a sensação de que sujava o chão e o banco do vestíbulo, a porcaria incrustada nele e a pestilência dos seus pés, tudo isto esmagava-o de vexame. A impecável limpeza que o envolvia, trazendo-lhe à lembrança o lar da tia, punha a nu, como um ferrete, a sua própria degradação.
Varapau-de-Osso subiu as escadas direita como um fuso e internou-se no quarto para se recompor. Respirou os sais para acalmar o seu estômago revoltado, lavou as mãos e trocou de vestuário Ao analisar os cabelos, sentia-se excitada e nervosa. Esquecera-se totalmente dos trabalhos que destinara para o serão. Tinha o corpo contuso, as costas a arder, mas nada disto era comparável com aquilo que o homem, em baixo, sofria.
Quando desceu, Chico-Pé-Fêde já bebera o chá e parecia dormitar. Apertava contra si uma manta velha e tremia. O vestíbulo gelava, a frialdade crescendo à medida que a noite avançava. A-Kuong aproximòu-se, segredando:
- Menina, este homem está muito doente. Tem aspecto de quem vai morrer.
- Bem sei. Não está em condições de sair.
- Eu encarrego-me de transportá-lo de cadeirinha ao hospital.
- Talvez seja tarde. E se morre pelo caminho?
O criado-mor estremeceu. O espectro de complicações com as autoridades policiais desnorteou-o. Ia chamar um médico, um curandeiro? Varapau-de-Osso desenvencilhou-se dele, sem responder, e chegou-se para o enfermo.
Chico-Pé-Fêde pressentiu-a, mas, antes que falasse, a tosse regougou, numa expectoração cavernosa. O ranho corria-lhe barba abaixo. O chá não lhe remediara coisa alguma. Urgia uma decisão, era um acto de caridade. Antes nunca o tivesse admitido portas adentro. Ali, meio tombado no banco, parecia apagar-se aos poucos.
- Levamo-lo para a casa de jantar e estendemo-lo na mesa. Eu quero ver o que tem.
Chico-Pé-Fêde apanhou claramente as palavras e ergueu a mão para a reter.
- É muita a bondade sua. É inútil, é nojento. Deixe-me ficar onde estou. Isto passa.
- Não passa nada. Aqui, ao frio, é que não pode ficar. E também sem tratamento. Só vendo saberei o seu mal.
Fraco como se achava, toda a resistência se esvaíra. No seu pânico de morrer sozinho, naquela noite tenebrosa, comovia-se como uma criança, por verificar que alguém se interessava por ele. Era tão consolador estar no agasalho daquela casa, duma verdadeira casa, que há muito não conhecia. Tentou erguer-se, mas não pôde. As dores assanhavam, como também a comichão. Sentia o desespero de não conseguir estilhaçar a sua carne para acabar com o martírio. Alucinado pela cruz das suas mazelas, estrebuchou:
- Já não sei o que devo fazer...
Fortes braços dos condutores de cadeirinha da casa ergueram-no, como transportando um fardo imundo. Os homens resmungavam, temerosos dum contágio que não sabiam o que era. Atravessaram a sala, guarnecida das ricas mobílias de Xangai, cheirando a benjoim e alfazema. Na casa de jantar deitaram-no na mesa, já coberta por um lençol.
As sapatilhas pingavam, manchando logo a alvura do pano. Os olhos deles pasmavam de medo, à luz das velas que se acendiam, chispando pratas e cristais dos armários envidraçados. Uma Ceia do Senhor, em terracota, debruçava-se sobre ele duma parede. O fedor era penetrante, nauseabundo. Era preciso muita coragem, muita abnegação, para remexer naquela podridão. Celeste escondera o nariz num lenço, enquanto A-Kuong pedia autorização para fumar. Os dois condutores de cadeirinha da casa retiraram-se para a porta, sem se atreverem a ficar, maldizendo a hora que tinham gastado na dependência dos criados a beberricar a aguardente de arroz da ceia. No entanto, nada detinha a dona da casa a prosseguir.
- Não tenha medo. Fui enfermeira. Já vi coisas medonhas no hospital.
- Não é vista agradável.
- Nenhuma ferida é vista agradável.
Com olhar severo, que transparecia dos óculos azulados, ordenou aos homens que segurassem no doente. À Celeste, mandou-a buscar a caixa dos primeiros socorros. Era a enfermeira no exercício pleno da sua vocação.
Tocou nas sapatilhas viscosas, com a sua crosta de lixo, de sangue e de lama. Os dedos escorregaram pelos atacadores empapados, desatando os nós. O estômago revoltava-se, mas era já muito tarde para recuar. Os pés estavam tão inchados que as sapatilhas se inflavam mesmo ajusta. Foi uma luta dolorosa, pois cada puxão provocava um estertor.
Uma pútrida exalação esparramou-se até o tecto, quando as sapatilhas caíram finalmente para o chão. Os criados escarravam todos para o cuspidor, como se isso os defendesse das emanações. Como a Menina aguentava, sem pestanejar, sendo a mais exposta, era a admiração de todos.
As peúgas já não se apresentavam com cor definida. Tinham sido cinzentas, mas havia manchas purpúreas, pretas e castanhas Colavam-se à pele, como se dela fizessem parte integrante. Estavam infectas e há muito que não deviam ter sido tiradas. A tarefa de arrancá-las constituía uma operação ainda mais dolorosa.
Isto acusou logo Chico-Pé-Fêde. Tentava soerguer-se, retesava o corpo ou contorcia-se, mordendo os lábios para não gritar. Não recebia simpatia dos homens, que olhavam amedrontados, mas ao mesmo tempo fascinados com o desfazer das peúgas. Finalmente, os pés revelaram-se, à luz dos candelabros e da vidraçaria, com as pústulas medonhas, a carne dilacerada pelo pus e pelo sangue, que pingava. O mal estendia-se já acima dos tornozelos. Os dedos, anormalmente grossos e macerados, eram como pedaços de carne viva, iriados de roxo e de verde.
- Menina, não toque mais... É lepra.
À visão repugnante e pestilenta, a enfermeira exclamou, indignada:
- Não entra no meu entendimento como o senhor ainda vive! Chegou-se mais de perto no exame, mas subitamente ergueu-se e saiu à pressa para a cozinha, onde vomitou. Respirou fundo, muito pálida, lavou cuidadosamente as mãos e regressou. Se perdesse o sangue-frio, estabelecer-se-ia o pânico e o enfermo ficaria por ali abandonado. Fora longe de mais e a responsabilidade era agora inteiramente sua.
- Não me mande para o hospital - balbuciou Chico-Pé-Fêde, dominado pelo terror supersticioso.
Varapau-de-Osso ainda hesitou. Procurava recordar-se do que vira no hospital ou espreitara na casa de madeira do quintal dos Padillas.
- Oh, se estivesse aqui o meu avô. Ele saberia logo do que sofre. Eu apenas adivinho.
- Já sei. O seu avô, o Sr. Pablo... o homem especialista na cura de...
Ainda teve tempo de calar-se, mas a enfermeira corara, dizendo, apressadamente:
- Vou seguir o tratamento do meu avô para casos semelhantes. Em primeiro lugar, todas estas chagas terão de ser limpas e desinfectadas. Vai doer. Se tiver que gritar, grite à vontade. Alivia.
Extraiu da caixa dos primeiros socorros os apetrechos necessários para um caso de emergência, que sempre uma boa enfermeira devia possuir, foi buscar alguns frascos da farmácia do avô, devotamente guardada no cubículo debaixo das escadas, e desinfectou as mãos. Todos acompanhavam os seus mínimos gestos, excepto o doente, que gemia baixinho.
Iniciou-se a longa e torturante operação de extirpar o pus e a infecção. Os dedos ganharam confiança e aquela eficiência que o Dr. Torres tanto gabara. Recordações iam e vinham, como quadros muitos rápidos, do hospital e do avô lidando com os seus doentes. Aquele homem violento e de língua desbragada tinha uma ternura rude para com estes quando se entregavam com a submissão de carneiros nas suas mãos. Sabia animá-los e ela procurava imitá-lo na grande provação que Chico, gemendo e gritando, atravessava.
O fedor era incrível, nem o fumo dos cigarros conseguia minorá-lo. Perfeitamente ciente da responsabilidade que arcara sobre os ombros, não se detinha, porém, aplicando ali o que aprendera no hospital e com o avô, lamentando apenas que o tempo fora tão escasso.
Finalmente, aprumou-se, afastando a cabeça do lençol manchado e das chagas vermelhas, ainda minazes, mas desinfectadas. Celeste, mais morta que viva, enxugou-lhe o rosto ainda tenso.
- Pronto... Por hoje, chega. Vou untar os pés dum unguento do meu avô. É uma preparação que aprendeu dum curandeiro de Fat-Shan. Já sarou feridas idênticas e julgo que lhe há-de valer. Se não produzir efeito, terei de chamar o médico... o Dr. Torres.
Assim disse e assim procedeu. O unguento, de cor branca e cheiro suportável, espalhou-se pelas feridas, que depois foram cobertas de gaze e algodão e competentemente entrapadas com ligaduras. Examinou, em seguida, as mãos, os braços, o peito e as costas, e deu-se por satisfeita. A peçonha não subira até ali.
- O senhor dorme esta noite aqui em casa.
- Não posso ficar...
- O senhor está muito mal, sabe? Depois de tanto cuidado e canseira, iria eu permitir que estragasse tudo por uma birra? Nem pensar nisso. Demais, não pode mover-se, está muito fraco e com febre. E tosse. Seria um crime mandá-lo para a rua.
Falava com autoridade e num tom peremptório. Ele, como um náufrago que se agarra a uma tábua de salvação, não insistiu. Começou a chorar baixinho e envergonhado. Os pés continuavam a cruciá-lo, mas alguém tratara da sua horrenda mazela, com intuito de debelá-la.
Celeste e A-Kuong entreolhavam-se, surpreendidos. A Menina não estava boa da cabeça. Saíra da sua conduta normal, modificara-se com os acontecimentos, nem sequer cuidando de si mesma. Teria o tombo afectado o seu tino? Para mais, admitia um mendigo a dormir portas adentro, como se fosse pessoa de família. Em vez de se acalentar pela voz da razão, dava ordens contrárias.
As suas almas simples e terrenas não podiam compreender que aquela fora uma noite única para a Menina. Quebrara a monotonia, enchera as horas na prática duma boa acção e fascinara-se com o papel de enfermeira, acudindo a um desgraçado.
- Não te esqueças, Celeste, de que me estatelei no chão e desmaiei. Ele ajudou-me a levantar e trouxe-me os embrulhos até casa. Com aqueles pés, com todas as dores. Não pude fugir à gratidão.
Estava agora recolhido numa cama com baldaquino e que chiava ao mínimo movimento, a cama velha, mas dum conforto há muito desconhecido. Submetido longo tempo a tarimbas duras e infectas, aquilo era um luxo. Tinha enxerga, lençóis muito limpos e alvos. Um min-tói de algodão cobria-o, mitigando-o do frio e da febre.
Antes de se deitar fora, sem cerimónia, lavado e esfregado, a toalha ensopada de água quente e sabão, por um dos cules de cadeirinha, sob instruções de A-Kuong, que, na sua qualidade de criado-mor, não podia descer àquela indignidade, demais a mais com um vagabundo.
Foi uma lavagem perfunctória, sem imersão, porque o seu estado não permitia banho completo. O suficiente, porém, para apagar as marcas de sebo e doutras mucosidades que se tinham incrustado na pele. Havia no corpo vestígios de mordeduras de percevejos e doutros parasitas que, durante largo período, se tinham banqueteado à custa do seu pobre sangue. Os dois homens trocavam impressões, indiferentes se o enfermo entendia ou não, comentando a porcaria amontoada e os estranhos motivos por que a Menina hospedara semelhante criatura. Torciam o nariz ao cheiro que ainda ali pairava, embora atenuado. E pasmavam-se para a negrura da água da bacia.
Depois, vestiram-no de pijama de homem, com forte odor a cânfora, lançando os seus farrapos no chão. O cule, com certo ar vexado, entregou-lhe o vaso para urinar, colocando-o depois debaixo da cama. A ausência das mulheres nestas íntimas particularidades era óbvia.
Tudo isto cumpriu, derreado num canapé de verga, obediente e submisso. Gemeu outra vez, quando o transportaram para a cama, mas, mal se enfiou entre os lençóis e se sentiu coberto pelo min-tói e aquecido por botijas de água quente, acreditou que o pior da provação tinha passado. A cabeça ainda girava, os pés ardiam-lhe ferozmente, mas havia o consolo de ter encontrado um abrigo. Não queria pensar no dia de amanhã, nem estava em condições para isso Pelo menos por esta noite ficava protegido do frio, da crueldade dos homens e dos elementos.
Quando A-Kuong*e o cule abandonaram o quarto, levando os andrajos e a bacia, Chico-Pé-Fêde mergulhou na sonolência da febre. Dançavam-lhe na retina fantasmas, a Títi Bita, o Tio Timóteo, a Pulcritude e os Saturninos, o Chibo Manso e a Ermelinda, a megera A-Tai, a pobre da sacrificada da ilha Verde e, o mais indignado deles todos, o P.e Serafim, todos armados de varapaus que picavam e flagelavam insidiosamente os seus pés. De repente, tudo desapareceu, para surgir à sua frente um rosto de mulher, de óculos azulados.
- Beba este xarope. É para a tosse e para a febre... E agora esta tisana... É para robustecer-lhe o sangue e tirar-lhe a peçonha que contém.
Era ela, persuasiva e firme, a obrigá-lo a tomar as mezinhas. Se gostou do xarope, teve uma careta quando provou a tisana. Engoliu até a última gota, pois não era capaz de negar nada, como uma criança que quer agradar.
- Verá que amanhã estará melhor, se Deus quiser.
A voz era suave, reconfortante, como tudo que o envolvia. Gostaria de lhe responder adequadamente, mas nem sequer lhe sabia o nome. Temia que a fadiga o confundisse, pronunciando a alcunha execranda. Somente sabia que era umas das Padillas, as inimigas da Títi Bita. Conhecê-lo-ia ela?
Entretanto, em baixo, na cozinha, ela consultava os apontamentos do avô para preparar uma massa de cozedura que ele costumava receitar para a cura da tosse e gripe. Ia aos frascos da farmácia, media porções, toda atenta e distraída do resto e da sua própria pessoa. Tomara apenas um caldo e não se alimentara convenientemente, agoniada ainda com o cheiro que tivera de suportar anteriormente. Celeste, amuada, porque não lhe dava troco, resmungava. Partilhando do resmoneio, havia ainda A-Kuong, revoltado com a alteração da ordem na casa.
- Basta, já estou farta de ouvir sempre a mesma coisa. Ele não pode fazer-nos nenhum mal. É tão inofensivo que não resiste ao empurrão duma criança. Eu respondo por tudo.
O frio continuava intenso, mas o vento amainara e o chuvisco também. Má noite, de qualquer maneira, excepto para os foliões do Carnaval, que se arriscariam até ao pior.
Chico tossia quando ela penetrou no quarto. Trazia a massa da cozedura quentíssima cheirando a mentol. Celeste, atrás, toda carrancuda, com o lenço no nariz, para se defender do ar pesado e fétido, vinha com uma chávena de leite a fumegar. O doente abriu os olhos e deixou que a massa se espalhasse sobre o peito, a coberto dum pano fino.
- Esta massa aplicava-a o meu avô quando estávamos com gripe e tosse. Vai suar muito, mas não se descubra. Passará uma noite melhor, verá. E beba esta chávena de leite para ter algum alimento. Agora procure dormir. Se precisar dalguma coisa, é só tocar nesta sineta que lhe deixo. Não faça cerimónia. Todos da casa temos um sono leve.
- Sou Francisco da Mota Frontaria, para seu conhecimento.
- Eu sabia que era da família Frontaria. Conheço bem o Sr. Timóteo e também a D. Bita, quando vivia.
- São os meus tios. Sei também que é da família Padilla.
- A minha mãe é que era uma Padilla. O meu pai era Hipólito Vidal.
Fez um esforço para ligar o nome à pessoa. Depois, lembrou-se e exclamou:
- Ah, já me recordo... o Sr. Vidal, da Câmara. Desculpe-me, mas não sei o nome da menina.
Varapau-de-Osso pendeu um vago sorriso irónico, mas respondeu:
- Chamo-me Victorina Vidal...
- Obrigado, Menina Victorina... Bonito nome...
Era uma amabilidade, mas soou bem, indo directamente ao coração dela, que nunca ouvira a alguém dizer que o seu nome era bonito. O rapaz, com toda a sua miséria, tinha educação, sabia comover uma pessoa.
Deixou viva apenas a chama bruxuleante duma lamparina de petróleo. Alisou a colcha e, na porta, disse:
- Boa-noite, Sr. Francisco.
- Boa-noite, Menina Victorina.
Cada um se identificara, não havendo mais motivo para apelarem para a alcunha.
A sua missão de enfermeira terminara por ora. Tinha jus ao descanso. Só então avaliava quanto tinha o corpo moído. Fez-se mimenta com Celeste para que lhe lavasse os cabelos e o corpo, como costumava pedir quando tinha cinco anos.
A «crioula», que a mimara desde pequenina, gostou dos seus rogos. Examinou-lhe as marcas da queda, massajou-lhe as costas e penteou-a, arrumando os seus abundantes cabelos negros em duas tranças coruscantes.
- Ao sair, Celeste ainda insistiu que dormisse nessa noite no mesmo quarto. Victorina sorriu e disse:
- Quantas vezes queres tu que repita que não há o mínimo receio? Aquele homem há muito que não experimenta o que é uma cama. E está muito fraco. Dormir, descansar, é o que pretende agora. E não te esqueças... Demos-lhe a esperança de se curar.
Estendida na cama, Victorina não conseguia conciliar o sono. Os efeitos da queda assediavam-na mal se mexia. Revia, a cada passo, todos os acontecimentos da noite, que tinham alterado, de modo inesperado, o curso normal e monótono dos seus dias. Que noite aquela! Pelo menos, tivera o espírito ocupado e sumira-se a depressão que a vergava ao sair do atelier.
Não estava arrependida. Sentia orgulho no que praticara. Aquele era exclusivamente o seu «doente». Uma obra de caridade para um homem que, mesmo arrastando as suas feridas medonhas, acompanhara-a até casa, como um perfeito cavalheiro.
O vento lá fora reduzira-se a um murmúrio gemebundo. A chuva tinha parado, pois as suas gotas não ecoavam de encontro às persianas corridas das janelas. De repente, colheu um rumor longínquo, que crescia, vindo da rua. Aguçou os ouvidos e, pouco a pouco, distinguiu o som de instrumentos de corda que se aproximava. Era uma tuna carnavalesca a caminho dum «assalto», defrontando alegremente o frio, em busca de horas de folia. Como um chinês jamais resiste aos bombos dos tambores duma «dança de leão», assim um macaense nunca fica indiferente aos trinados duma marcha da tuna em tempo de Carnaval. A despeito da temperatura, Victorina saltou da cama e espreitou por entre as persianas.
A tuna desfilou ao compasso da marcha, a bandeira identificadora à frente, seguida por bandolins, depois violas, eukalilies e outros instrumentos. Atrás, uma coluna de foliões mascarados, chalaceando, brincando, gritando no silêncio e pacatez da rua.
Atravessou um frémito em Victorina. Nunca participara nessas marchas divertidas, o Carnaval só fora para ela uma sequência de humilhações.
Uma voz cruel, como se adivinhasse que ela se escondia por detrás da janela, gritou, no seu anonimato de mascarado:
- Varapau-de-Osso... Varapau-de-Osso! - e mais vozes participaram, em coro, entre gargalhadas.
Retrocedeu, como se lhe vibrassem uma bofetada. Não tinha quem a defendesse, nunca tivera quem a defendesse dessa afronta. Por coincidência espantosa, o homem que suspeitava tê-la inventado dormia em sua casa. Teria também ouvido?
Chico ouvira nitidamente. Despertara à aproximação da tuna, e num instante recordou-se dos seus triunfos nos passados Entrudos, num mundo de que há muito fora escorraçado. E também dos seus desastres. Quando o insulto ecoou, inteiriçou-se, como se recebesse uma punhalada dos pés à cabeça. Comprimiu os lábios de indignação, porque tocava na mulher que o tinha recolhido da miséria da rua e o tratara com o desvelo duma mãe.
Sentiu-se indigno. Fora ele o inspirador daquelas palavras ofensivas e ela recompensara-as praticando um bem. Se esta era a forma duma vingança, era uma vingança de luva branca, a mais dolorosa de todas.
Victorina acordou cedo, mas deixou-se ficar na cama, a rever os insólitos acontecimentos da noite anterior. Estava mais calma, podendo medir as consequências do seu acto, com sisudez, sem precipitação. Fora imprudente em não ter chamado o Dr. Torres. Em vez disso, arrastada por um incontrolável impulso, arriscara-se a fazer-se de médica, tratando o enfermo com as mezinhas do avô. Tudo dependia do estado que apresentasse hoje. Imagine-se se o homem lhe morria em casa e as complicações que daí adviriam. Como, então, explicar às autoridades, ela que fora uma enfermeira?
E como explicar também a presença desse homem em sua casa, portas adentro, ocupando um dos quartos. Só por altruísmo e por caridade? E por que não o hospital, onde era o lugar devido? Não que se ralasse muito com as línguas do mundo, ela que sofrera com altivez as amarguras, vendo-se envolvida na sua reputação com Gonçalo Botelho. Mas o caso já estava esquecido, visto que morrera e lhe herdara todos os bens.
Agora com aquele Francisco Frontaria era bem diferente. O rapaz tinha uma fama desgraçada, a quem se atribuíam os piores vícios de boémio e femeeiro, um réprobo que não tinha entrada em casa alguma decente. E estava instalado ali dentro, num dos quartos, usando roupa de Hipólito Vidal. O mais sensato seria, portanto, para o seu sossego e bom nome, mandá-lo para o hospital, com a promessa de que ali seria bem tratado.
A ansiedade, porém, de contemplar os resultados do seu tratamento sobrepôs-se a tudo mais. Duas vezes durante a noite levantara-se e espreitara pela porta. A tosse diminuíra consideravelmente e não surpreendera nenhuma respiração cavernosa.
Saltou da cama, arranjou-se e vestiu um vestido caseiro, tomou o pequeno-almoço, sem dar muito troco a Celeste e A-Kuong, que pediam instruções quanto ao intruso. Aparentava uma tranquilidade fictícia, como se tudo permanecesse normal e igual aos outros dias.
Entrou, por fim, no quarto do doente. O ar viciado das emanações de suor, dos remédios e das feridas aturdiu-a. Abriu meia janela para ventilar e aproximou-se de Chico. Ele estava acordado, muito pálido, a cabeça sobressaindo da almofada e da colcha, acompanhando-a em todos os movimentos. Trocaram os bons-dias e ela tacteou-lhe a testa, o pulso e mediu-lhe a temperatura. Ficou satisfeita. A pele estava mais fresca, havendo apenas um toque de febre. Portanto, as mezinhas para a gripe e a tosse tinham resultado. Assumiu, muito direita, ajeitando os seus óculos azulados, sem se lembrar do seu defeito, o papel duma médica verdadeira, com as perguntas sacramentais que aprendera com o Dr. Torres. Ele respondia-lhe, com voz rouca e cansada, mas sem o tom de desamparo e desespero. Os olhos cavados nas órbitas pareciam indagar muito. Naturalmente, vivia o transe de saber como ela ia dispor dele. Era um ser tão vulnerável e indefeso que metia dó.
À luz do dia, apresentava-se muito sujo. A barba era patibular, invocando criminosos em último estádio de degradação. Os cabelos compridíssimos, que desconheciam há muito a graça dum pente, pulverizavam-se de caspa e doutras sujidades. A-Kuong prevenira-a de que tinha piolhos e outros animalejos no couro cabeludo. Precisava dum banho completo, o corpo esfregado a escova dura. Mas tal banho drástico não podia planear-se por ora. Victorina, sem o consultar, deu ordens para chamar o barbeiro. Disse-lhe apenas que continuaria com a mesma medicação e, depois de lavar a cara e os dentes, iria olhar para os seus pés.
Retirou-se, como se concluísse, por ora, uma visita médica. A-Kuong apareceu, carrancudo, trazendo uma bacia de água quente e uma toalha, juntamente com a escova e pós para os dentes. Logo pela manhã, eram luxos a que Chico se desabituara. Esboçou um agradecimento, mas o criado-mor nem se dignou sorrir-lhe. O capricho da sua patroa de manter aquela criatura em casa excedia a possibilidade de compreensão dele.
O simples sabor dos pós dentifrices encheu-o de optimismo. Dormira e acordara inúmeras vezes, pois as dores persistiam nos pés, mas sentia-se melhor. Os alvores da madrugada alancearam-no, porém, duma preocupação. Receava que ela pusesse um fim à hospitalidade e o mandasse para a rua, para continuar indefinidamente o seu calvário. Na noite anterior julgara chegar o termo dos seus dias Agora raiara-lhe de novo a esperança. Já não queria morrer, mas voltar a ser são e andar como os outros. Tudo dependia daquela mulher alta, magra e estrábica. Mandando trazer os pós dentifrices e chamar um barbeiro para lhe cortar os cabelos, indicava que permaneceria ali por mais algum tempo.
Bebeu leite e comeu uns deliciosos biscoitos, tudo na maior ordem e asseio. Retrocedeu, em pensamento, uns anos e estava na casa da Títi Bita, onde costumavam trazer-lhe o pequeno-almoço para o quarto. Mas a ilusão dissipou-se depressa, ao tomar as beberagens medicinais e quando ela voltou para o tratamento dos pés.
Ia começar a tortura e tentou sorrir, afirmando que estava preparado para a provação. Ela não se mostrou comovida e actuou com a impessoalidade e eficiência duma enfermeira. Os seus ajudantes, Celeste e A-Kuong, convencidos da proveniência das pústulas, espreitavam, prudentemente, por cima dos ombros magros, já não tendo o criado-mor a autorização de fumar. Os pés tresandavam com o odor repulsivo, mas menos acre. À medida que se desentrapavam as ligaduras, Chico mordia os lábios de pavor, sem avaliar a ansiedade de Victorina, que contava com os efeitos curativos do unguento.
As chagas estavam coladas à gaze e o cheiro era tão execrável que houve necessidade de abrir mais a janela. O tratamento prosseguiu, sem hesitação. Arrancada a gaze, sem se atender aos gemidos, as pústulas ostentavam ainda um cariz repelente e ameaçador. A mulher, debruçada, resistindo, sem pestanejar, às emanações, examinou-as com cuidado, em pormenor. Ao endireitar-se, disse, com um leve sorriso de triunfo:
- Têm melhor aspecto, mas o perigo ainda não passou. Vai levar o seu tempo e terá muito que sofrer, mas julgo que caminhamos com acerto. Com dieta adequada e muito descanso, não vejo por que não há-de curar-se.
Foi um longo tormento que ele sofreu resignadamente, sob as mãos firmes, implacáveis e competentes de Victorina, coadjuvada com mais heroísmo por Celeste e A-Kuong. Novamente untado com o unguento de Pablo Padilla e depois de entrapado com ligaduras, Chico respirou aliviado.
- Tem os dedinhos de pé muito atacados. Mas haja esperanças. O meu avô era um extraordinário curandeiro.
- E aquele que consultei, um charlatão...
- Não tanto assim. Permitiu que o senhor aguentasse por muito tempo, atrasando a evolução da doença. Foi uma sorte não ter sucumbido.
- Devo-o à Menina Victorina.
Era ridículo chamá-la de menina, quando já ultrapassara os trinta anos, mas, de qualquer maneira, agradável. Justamente quando o som das palavras tinha uma tonalidade sincera.
Não animou mais a conversa, não queria familiaridades. Ainda lutava com os escrúpulos de interná-lo no hospital ou chamar o Dr. Torres. O desafio de curá-lo pelos seus recursos acicatava-a, porém. Era o seu «doente», as feridas e a gripe tinham desenvolvido para melhor. E o homem parecia tão grato e tão feliz de estar abrigado em sua casa. E confiava nela. Se melhorava, para que incomodar-se com hospitais, explicações e o resto?
Chegou o barbeiro. Era um chinês, «cristão-novo», baptizado na Igreja de S. Lázaro, morador activo do Bairro de Volong, dos católicos chineses. Chamava-se Inácio, pessoa de prestígio na sua arte, correndo as várias casas da «cidade cristã», escanhoando e aparando barbas, frisando e abrilhantando bigodes, cortando e lavando cabelos. Orgulhava-se dos ferros que adquirira em Hong-Kong para ondular ou encaracolar crespas cabeleiras românticas. Era vaidoso da sua profissão e gabava-se de ter feito a barba a dois governadores.
Portanto, ficou ofendido quando lhe apresentaram Chico. Era um barbeiro de elite e não prestava serviço a qualquer farroupilha. Como toda a gente da «cidade cristã», conhecia o Frontaria. Uma vez até lhe cortara o cabelo. Mas fora numa outra época e o homem também outro. Victorina zangou-se. Não admitia desconsiderações a hóspedes em sua casa, porque a rebaixavam também. E lembrou, de repente, ao barbeiro, saltitante na sua suficiência, que o seu avô, Pablo Padilla, o curara de certa doença e que ainda estava a tempo de agradecer à neta esse grande favor.
Inácio atrapalhou-se e modificou a sua atitude. Victorina ofereceu-lhe o dobro pelo serviço e conseguiu a anuência do artista. Mas não lhe tirou o nojo estampado na cara, ao ter de remexer naqueles cabelos ensebados, onde existiam parasitas. Não havia que perfazer um corte elegante. O próprio Chico adiantou-se, pedindo que ceifasse as melenas o mais curto possível.
A «tosquia» procedeu-se com destreza, a golpes seguros, e uma cabeça chupada saiu do desbaste implacável, mas necessário. O que ficou do cabelo não se lavou, desinfectou-se, nas mãos do artista, que não cessava de resmungar. Surgiu da obra um homem diferente e mais diferente se apresentou depois da ceifa da barba patibular! Inácio sabia do ofício e, quando recebeu o dinheiro, impava de suficiência.
Não conquistou, porém, as simpatias de Victorina, principalmente quando não teve rebuço de denunciar uma curiosidade escarninha por encontrar, portas adentro, semelhante traste de má fama instalado numa cama confortável e rodeado de cuidados, a sarar-se duma doença malcheirosa. Apressou-se a desandá-lo de casa, sem solicitar mais os seus serviços.
Fez as recomendações necessárias quanto às mezinhas e à dieta. Enquanto se aprontava para ir ao atelier, revia o rosto já barbeado de Chico e não podia negar que a comovera. Não era o semblante dum monstro pestilento que surgira no meio da noite, mas dum homem minado pela doença, escalavrado e lívido. A expressão dos olhos impressionavam-na, no seu apelo silencioso de que tivesse piedade dele e o curasse.
Não foi a mesma Victorina do dia anterior que entrou no atelier. Contra o costume, chegara tarde e não perfizera as tarefas que prometera completar na véspera. Esquecera-se inteiramente delas e, pela primeira vez, tivera de pedir desculpas do atraso. As empregadas estranharam o seu ar distraído. Ficou insensível aos comentários das clientes, quê falavam do êxito do «assalto» carnavalesco da noite passada e doutros que se preparavam. As clientes divertiam-se, à sua maneira, mas ela encontrara uma ocupação mais nobre que subitamente enchia-lhe o dia. O pensamento de mandar Chico para o hospital parecia, no seu espírito, cada vez mais remoto.
Não alterou o hábito de almoçar no atelier, mas contou as horas até o fim da tarde, impacientando-se que o relógio avançasse tão lentamente. Desconhecia-se. Afinal, o doente começava a dominar-lhe as atenções. Queria saber da evolução da doença e como correspondia ao tratamento. Confiava na sabedoria do avô e ansiava pela confirmação.
Voltou de cadeirinha, com o trabalho para ocupar o serão. Nada de anormal aconteceria naquela noite e podia seguir a rotina de sempre, no maior sossego. Mas evidentemente que não era a mesma coisa. Não podia esquecer que havia um homem acoitado num dos quartos, dependendo da sua generosidade e capricho. Devia ter tomado uma resolução mais sensata, mas deixara correr o tempo. Celeste, prescindida de resmonear, mas pronta para censurar, se lhe desse azo para isso. A-Kuong guardava uma mudez ofendida, vendo-se obrigado a perfazer funções que julgava não lhe competirem. Ambos mal escondiam a surpresa de verificar na Menina um procedimento singular e fitavam-na com estranheza.
- Como está ele?
- Fala pouco. Passou o dia a dormir. Toma tudo que lhe damos, dizendo apenas obrigado. Está muito fraco e geme de vez em quando.
- Ainda cheira muito mal. Os pés doem-lhe. O hospital é que seria o lugar...
- Não falamos disso por enquanto, A-Kuong. Ele precisa de muito descanso, boa dieta e muito asseio.
O criado-mor quis-lhe dizer que ela nada tinha com tais deveres. O homem não era seu parente e estava ali para tirar proveito da sua bondade e magnanimidade. Para que objectar, no entanto? Ela não acataria as opiniões de bom senso.
Impondo a si mesma uma disciplina, não foi vê-lo imediatamente. Trocou o vestido por um caseiro, lavou a cara e as mãos e desceu para jantar. Mal tinha almoçado e estava com apetite. Saboreou a comida frugal da noite, mas bem confeccionada, falou do atelier e das tarefas de que se encarregara para matar o serão, foi suficientemente loquaz, para que os outros dois concluíssem que a disposição da Menina, habitualmente murcha àquela hora, se alterara.
Depois da refeição e decorridos uns minutos forçados, decidiu subir. Mal entrou e o sorriso de Chico acolheu-a. Ninguém tivera ainda um sorriso semelhante para ela, nem o bom Gonçalo Botelho. Não estava afeita a uma tão espontânea expressão de alegria. Não lhe deu, porém, o troco que ele talvez aguardasse. Era uma visita médica e desejava que assim fosse. Nada de familiaridades, para que não julgasse que era alguém mais do que um simples recolhido por caridade. Fez as necessárias perguntas, tacteou-lhe a testa, que já não queimava de febre, e perguntou pelos pés.
- Ainda me doem, mas sinto-me melhor... Já não me desespero. Tenho esperança...
- Bom, assim é que gosto de ouvir. Continue a seguir aquilo que indiquei. Não tente andar e não apanhe frio.
- Serei o melhor dos doentes, verá.
Não achou razão para se demorar mais no quarto. Insistiu nas recomendações e ia sair quando Chico balbuciou:
- Muito obrigado, Menina Victorina. Gostaria de fazer uma pergunta em que ando a matutar o dia inteiro.
- Qual é?
- Não me vai mandar embora, não?
Não lhe ripostou logo. Comovera-se com o tom, mas não lhe permitiu que descobrisse essa súbita fraqueza. Só ao cabo de alguns segundos disse:
- Não... Pode estar descansado, se é isso que o inquieta. Só partirá daqui quando estiver em condições.
Fechou a porta. Pronto! Comprometera-se. Retorquira sem se lembrar do hospital e do Dr. Torres. Caíra na armadilha do seu próprio sentimento de boa samaritana. Mas não estava arrependida, antes uma sensação de alívio se apossara dela por ter tomado uma resolução definitiva. Aquela solução abalara a monotonia dos seus dias. Era tudo tão insólito. Subitamente, compreendeu que já não a vergava a solidão.
Alguns dias depois já não merecia dúvida que o tratamento vingava. As chagas, lutanto ferozmente no terreno conquistado, iam cedendo perante a eficácia do unguento e da tisana. Aqui e ali, revelavam, cada vez mais, tendência para secarem e cicatrizarem. O estado geral do doente também animava, a gripe fora-se de vez, mais a tosse, e comia com maior apetite.
A educação e a afabilidade, insufladas desde o berço pela Títi Bita, prevaleceram intactas, apesar de todas as cabeçadas. Mostrava-se, a cada instante, gentil e agradecido, num fluir natural, sempre receoso de incomodar aquela gente, que, ao fim e ao cabo, tinham-no livrado duma morte abominável e sem remédio. Incluía na palavra «gente» não só a dona da casa, como também a Celeste e o A-Kuong, que, a despeito das rudezas e suspeitas que não escondiam, tinham-no ajudado a minorar os sofrimentos. Falava pouco e pensava muito, contra o seu feitio exuberante, prudente no que afirmava, com medo duma patacoada volúvel, que fosse estragar tudo e impregnar neles uma péssima impressão. À medida que os dias decorriam, Chico debatia-se para apagar toda a indignidade do seu passado.
A casa habituou-se ao novo ritmo, com aquela presença inesperada, abruptamente surgida numa noite tenebrosa. Sem ninguém ainda ter consciência do facto, Chico tornara-se o centro das atenções.
Quebrando a monotonia do quotidiano, sempre igual e mesmíssimo, como a água estagnada dum charco, havia algo mais que fazer e dedicar-se. A necessidade de medicar, de tratar das feridas, de preparar a dieta, de lavar e vestir o doente, arejar o quarto e trocar a roupa da cama enchia a vida de Victorina, Celeste e A-Kuong. Uma série de pequenos pormenores, jamais antevistos, ditavam-lhes os minutos e as horas.
No atelier, Victorina conduzia-se sem denunciar que houvera uma grande alteração no seu teor de vida. Mantinha-se na discrição e julgava poder guardar o segredo até Chico estar restabelecido e suficientemente forte para andar. Cria que, cerrando a boca, nunca a vizinhança e o resto da cidade saberiam que albergava um homem
- e que homem! - dentro de casa.
No entanto, o sumiço súbito duma criatura, por mais maltrapilha que fosse, numa cidade pequena, não podia passar sem reparo. A primeira pessoa a estranhar foi o Sr. Chagas, que costumava incumbir Chico de pequenos recados, da distribuição de circulares e doutros anúncios. O fedorento rapaz habitualmente lhe aparecia, dia sim, dia não, a perguntar se tinha trabalhinho, todo humilde, a tentar esconder o seu cheiro e a sua vergonha. A ausência de dois dias alarmou-o. Podia ser sebento, mas era escorreito nas contas e tinha alguns cobres a receber da distribuição da circular de óbito de D. Adelina das Neves e, se não vinha, sendo tão necessitado, é porque alguma coisa lhe acontecera.
Pergunta aqui, indaga acolá, ninguém o tinha visto naqueles dias arrastando-se pelas ruas. Em volta das indagações do Sr. Chagas semeou-se a curiosidade. Enquanto o viam, em farrapos, ninguém mostrava particular interesse por ele, a não ser para exemplo de castigo por má cabeça. Mas, agora que se esfumaçara misteriosamente, era a novidade do dia.
O desaparecimento de Chico-Pé-Fêde transformou-se num caso policial. A sua figura trôpega, a coxear, fazia parte do panorama de certas ruas da «cidade cristã». A autoridade foi investigar o casebre. Só encontraram um monturo de farrapos, odores pestilentos e um tabique carcomido pela velhice e bicharia. Numa mala desconjuntada, entre objectos sem valor algum, pateticamente devorada pela humidade, estava o retrato da Títi Bita, numa pasta desfeita. Mas de Chico, propriamente dito, nem o mais pequeno vestígio. O malandro devia estar escondido em qualquer antro da «cidade chinesa». Mas quem o queria ali, com a fama de leproso?
Bateram-se os mais sujos alcoices, as espeluncas do Bazar, os fumatórios de ópio. Nada. Até se invadiu o beco horrível e todos os inquilinos da casa onde vivera foram interrogados e, mais do que ninguém, a antiga amásia, que explodiu em pragas contra o desgraçado.
O Tio Timóteo, prevenido, reagiu, com indignação:
- Tal pai, tal filho... Ambos acabaram vergonhosamente. Se tinha agravos tremendíssimos contra o sobrinho, não podia ficar indiferente nas diligências promovidas para descobrir o paradeiro dele. Crivavam-no remorsos por ter deixado Chico cair na mais hedionda das misérias, aparentemente insensível. Esperara sempre que o sobrinho lhe fosse bater à porta, pedindo perdão. Mas este preferira a cloaca do que sujeitar-se a viver das suas sopas. Havia, portanto, que fazer um enterro decente para limpar a honra da família. Não se esquecesse ninguém de que, depois de mortos, todos são iguais e o réprobo era um Frontaria, o último de Macau. Mas onde estava o corpo?
No ar pairavam os boatos mais desencontrados. Alguém afirmava que o tinham avistado no Chunambeiro, por entre as sombras das árvores, outros, para além da restinga do Bom Parto, nas proximidades do casebre do pescador das grandes redes. Outros, ainda, que parara num aldeamento da ilha Verde, onde costumava, em tempos idos, pescar. Mas nada destas afirmações tinha a menor ponta de verdade.
Dado já como morto, houve quem evocasse as suas palhaçadas, a sua boémia irresponsável e o escândalo abominável com a Pulcritude Saturnino. A unanimidade era quase geral, que tivera o seu merecido castigo, pagara bem caro os seus desaforos. Mas houve quem também dissesse da sua generosidade, da largueza da sua prodigalidade, não vendo a quem. Estas afirmações causaram embaraços a muitos, que se reduziram subitamente a um silêncio desconfortável.
De repente, o barbeiro Inácio entrou em cena. Ouvira os zunzuns e as tripas revolveram-se-lhe por guardar o segredo, contra a tradição de barbeiro noveleiro, lembrado das palavras de Victorina, que trouxera à baila o favor feito a ele por Pablo Padilla. Convocado pela segunda vez para rapar a barba ao doente, quis certificar-se bem da identidade deste. E não teve mais dúvidas. Não conseguiu resistir e, pedindo confidência sob juramento, ciciou ao primeiro cliente que lhe chegou às mãos depois de Chico a grande novidade. O outro arregalou os olhos de espanto e, é claro, esqueceu-se das juras para badalar a notícia. Esta correu como um rastilho nas bocas do mundo.
- Varapau-de-Osso tem Chico-Pé-Fêde em casa!
A noção de que a muralha de segredo se despedaçara teve-a quando, à saída duma loja de sedas da Rua das Estalagens, quase chocou pela frente com a tia Amparo. Não lhe deu troco, mas a outra, em ar de desafio, pronta para o desacato, atirou-lhe:
- Desavergonhada como o pai... Pega porca, só para homem sujo!
Empalideceu de cólera, mas conteve-se, subindo para a cadeirinha, como se a zaragateira não existisse, ordenando aos condutores que se apressassem. Mas compreendeu e não levou muito tempo para adivinhar que o Inácio barbeiro soltara a língua. Aquela criatura nunca mais entraria em sua casa. Remoeu a raiva no atelier, dura com as empregadas, retraída com as clientes, tentando ler-lhes na expressão do rosto se sabiam ou não.
Numa manhã, quando o atelier trabalhava em meia surdina, as empregadas bichanando a meia voz e uma mosca zumbindo de encontro à vidraça, apresentou-se um guarda «mouro», soberbo no seu turbante e nos seus bigodes, com uma notificação, convidando Victorina a comparecer no Comissariado da Polícia. Admirou-se a destinatária do facto, pois não se recordava de ter praticado algo que merecesse intervenção policial.
Obedeceu, porém. Quando entrou no Comissariado, no antigo Convento de S. Domingos, atravessando frios corredores, não conseguia ainda adivinhar a razão da notificação. Ardia em curiosidade, debaixo do seu ar reservado e distante.
Numa sala espartana que cheirava vagamente a desinfectante, um tenente empertigado, o mesmo que conduzia as investigações sobre o paradeiro de Chico-Pé-Fêde, farda impecável e monóculo em riste, ergueu-se, num exame breve e minucioso.
Não a intimidou. Alçou o queixo altivo, os seus óculos azulados fuzilaram contra a luz do Sol, e estendeu a mão, que o militar levou aos lábios, numa curvatura palaciana. A aspereza do bigode frisado causou em Victorina um certo mal-estar.
Oferecendo-lhe a cadeira, desfez-se em amabilidades de ocasião e em desculpas do incómodo que lhe dava. Tinha concluído rapidamente que se tratava duma senhora, e não duma galdéria qualquer. Victorina não se deixou comover com as gentilezas, numa atitude defensiva. O oficial tossiu e foi directo ao assunto, para não se deter em mais delongas.
- Sr.a D. Victorina, é um assunto muito delicado, mas, por dever de ofício, tenho de lhe* fazer algumas perguntas. Ando numas diligências aborrecidas... Desculpe-me, mas, por acaso, encontra-se em casa de V. Ex.a um tal homem conhecido por Chico-Pé-Fêde?
Apanhada desprevenidamente, estremeceu, enquanto um leve rubor coloria as faces.
- Francisco da Mota Frontaria... quer o Sr. Tenente dizer.
- Bom, desculpe-me... Só o conheço pela alcunha.
- Nesta cidade conhecem-se as pessoas pela alcunha. É mais fácil e mais humorístico.
- As alcunhas são uma praga, colam-se à pessoa, de modo que, para as apagar...
- Eu sei...
O oficial buscou, por entre os papéis, a caixa de rapé, lembrado de que ela também tinha uma. Começara com uma gafe e tentava atamancar a precipitação de fazer graça. Não achou a caixa de rapé, tossiu e explicou. Esse Frontaria desaparecera e havia quem afirmasse
- podiam estar todos enganados, mas ele, como polícia, tinha de averiguar - que ele estaria hospedado em casa da Sr.a D. Victorina.
Desenhou-se na mulher uma expressão dura e ao militar o olho defeituoso tornara-se mais estrábico. Nem ali o seu doente era poupado à curiosidade e à ignomínia duma alcunha.
- É uma pergunta oficial? Se é uma pergunta a título particular, não sou obrigada a responder. A minha vida privada só a nim me diz respeito.
- É uma pergunta oficial. Evitavam-se mais boatos... mais invenções. Uma praga.
- Então respondo. Francisco da Mota Frontaria encontra-se em minha casa. Está doente.
- Doente... Que doença tem ele? Sim, recordo-me dele a coxear, mas julgava que era aleijadinho...
Era uma impertinência. Respondeu vagamente, sem dados precisos. Eram os pés... Aquele homem à sua frente não tinha de saber quais os males que acerbavam Chico. Aliás, no seu cantinho, o auxiliar do oficial aguçava os ouvidos, olhos arregalados, pronto para registar os pormenores. Farejava ali uma suculenta história.
- Por que não o mandou para o hospital?
- Não vi necessidade disso.
- É seu parente?
- Não... É uma pessoa das minhas relações, apenas... Recolhi-o porque me condoí da sua situação. Há algum mal nisso? - o tom era de desafio, estridente.
- Não, por quem é. Nada tenho com a vida privada de cada um. Mas correu por aí uma história tenebrosa... Que sumira-se, fora morto... raptado, eu sei lá que mais. Compreende, vivemos num meio muito pequeno. As coisas avolumam-se de hora a hora. Depois vieram dizer-me que a Senhora...
- Foi o Inácio barbeiro, não?
- Quem é o Inácio barbeiro? Nunca o vi mais gordo... Trouxeram-me a notícia apenas. Não o encontrámos na sua casita...
- Diga, uma choça miserável...
- Foi-nos comunicado o facto. Desejava a confirmação de V. Ex.a Agora, esclarecido o assunto, fica tudo encerrado.
- O Sr. Frontaria está melhor e pode ser visitado por V. Ex.a, a todo o momento, se assim o desejar.
- Não duvido das suas palavras. Se a Senhora afirma que está em sua casa, está mesmo. Eu só cumpro o meu dever. Sabe lá quanto me custa meter-me na vida alheia. Por isso, prefiro os combates em África... Estive em Marraquene.
Gostaria de alardear-se nas campanhas africanas, mas a interlocutora não se impressionou com tais heroísmos. Boca amarrada, queixo altivo, o olho estrábico a fuzilar de mal contida irritação.
- O assunto está definitivamente arrumado. Não pense mais nisso. Agora, é só esperar um bocado, para assinar uma declaração... São os trâmites exigidos.
- O Sr. Frontaria sairá da minha casa logo que puder andar e ganhar forças. É apenas uma questão de tempo.
- Pois claro, pode ficar o tempo que quiser. Nada tenho com isso. Aliás, não há ninguém a reclamá-lo.
Em conclusão, tinha a reputação num charco, mais gravosa ainda do que na intriga em volta de Gonçalo Botelho. Sentia-se arder por dentro. A seriedade do rosto do tenente não escondia um tique irónico nos olhos. Não acreditava na doença. Estava a imaginar escabrosidades de alcova. O monóculo em riste, troçava. Gostaria de esmagar aquela cara grave a disfarçar uma expressão zombeteira, que os bigodes frisados na ponta, em caracol, mais acentuavam.
Preenchida a papelada, depois de ditada ao auxiliar pressuroso, que escrevia lambendo o lábio superior, despediram-se. A impressão dos bigodes sobre a pele fina das mãos foi mais irritante. A indignação afogueava-lhe as faces, movia-a a vontade de escavacar tudo, como o faria o avô Padilla nos momentos de maior cólera. Encaminhou-se pelos corredores, sempre acompanhada do oficial, que se fazia galante, novas mesuras à porta, e sentou-se na cadeirinha sem dar mais troco, olhando em frente, direita como um varapau.
Logo que reentrou no seu gabinete, o oficial estoirou às gargalhadas. Conhecia Chico e a sua fama. Achava a situação tão cómica, tão incrível, misturar o porcalhão e debochado com essa senhora empertigada, muito asseadinha, revelando bom gosto e abastança no vestuário e no chapelinho, e de categoria social a léguas de distância do vagabundo. Que faria aquele devasso com essa mulher magríssima e zarolha, já com a carga de trinta anos nos ossos? Descobrindo a caixa de rapé, que rolara para o chão, tomou uma pitada forte. Ao assoar-se estrondosamente, traçava na retina quadros lúbricos. Se a pele da mão era tão fina, o que não seria no resto do corpo, escondido pela roupa e poupado da acção do Sol e dos ventos? Acabou por concordar, com outra pitada, que naquela magreza poder-se-iam descobrir certas formas bem excitantes. Ou seria tudo imaginação?
A entrevista com o militar de monóculo zombeteiro chocou-a. Refugiou-se no atelier, ordenando que não recebia ninguém. Doía-lhe a cabeça e a raiva atormentava-a. Revia, ponto por ponto, o que dissera e o que fora lançado no papel. Temia, ao encarar Chico, explodir num frenesi. Era preciso que ele nada soubesse. As chagas diminuíam de virulência, cicatrizavam, embora lentamente, vencidas pelo unguento e pelas tisanas, a caminho duma cura certa. Não desejava que nada prejudicasse a sua «obra». A determinação de pô-lo são e escorreito era mais firme que nunca. Não ia destruir tudo, jogar a vida do rapaz, só pelo receio das calúnias e da má-língua. Fizesse o que fizesse, já não salvava a honra e o nome, lançados nas ruas da amargura. Ninguém iria acreditar na sua caridade desinteressada e no seu samaritanismo. Quanto mais pesava os factos, mais crescia a sua teima.
Foi com dificuldade que matou as horas. Era ainda dia quando a cadeirinha a depôs à porta de casa. Antes de puxar a campainha relanceou o olhar em redor. As janelas da vizinhança tinham as suas persianas fechadas por causa do frio e da humidade. Acreditou que estivesse muita gente a cocar, espicaçada de curiosidade doentia. Aspirou, de repente, pelo sossego e as frondes da Areia Preta, pelos rouxinóis que cantavam ao cair da noite, na paz e macieza da chácara.
Subiu a escada e acalmou-se, ao abrigo das paredes do seu lar. Num ápice, escoou-se o peso que trazia na alma, os lábios traduzindo um vago sorriso. Perguntou à Celeste pelo doente, informou-se.
A outra respondeu que comera, dormira e conversara mais do que habitualmente.
No quarto mudou-se rapidamente. Examinou-se ao espelho, deu uma demão nas madeixas de cabelo, limpou os óculos, avivou os lábios e as faces, que lhe pareceram lívidas. Depois, dirigiu-se ao aposento vizinho.
Já ali não havia o cheiro repulsivo. Celeste, seguindo as suas ordens, queimara incenso e benjoim e o aroma emprestava ao ambiente um perfume que evocava o Natal.
Ele não estava deitado, mas semi-sentado no encosto de largas e macias almofadas de sumaúma. A fisionomia voltara-se para a porta, uma fisionomia mais cheia, menos pálida. Comoveu-a subitamente a vulnerabilidade dele, à mercê da sua vontade e capricho. Uma ordem e ele estaria logo na rua. Não, não ia fazer isso, principalmente quando aqueles olhos revelavam uma genuína alegria de contemplá-la.
- Como vão os dedinhos de pé?
- Melhor... Hoje não sofri tanto, bem reparou... Sinto-me com mais forças e comi bem. Pergunte à Menina Celeste.
De perto, as emanações da doença ainda se pressentiam, mas, mescladas com o perfume do quarto, não revoltavam já o estômago.
- Esteve muito ocupada?
- Foi um dia cheio... Quase não podia respirar.
- Mas veio mais cedo.
- Sim, fatiguei-me e não há como voltar para casa.
- Há duas horas que acordei. Estava à sua espera.
- Sim? Porquê?
- Não sei. Apenas sinto-me mais calmo quando volta. Perturbou-se. Ele tinha uma maneira de dizer as coisas que ia
directamente ao coração. Quebrava a distância que ela, por disciplina, quisera impor. Respondeu com um sorriso feliz, dizendo que tinha a barba comprida.
- O barbeiro tem faltado.
- Nunca mais virá. Não se preocupe. Eu vou-lhe fazer a barba. Não me olhe assim. Julga que não sei usar duma navalha? Quando o meu avô estava paralítico, era eu quem a fazia.
Quando ordenou que trouxesse os apetrechos para a barba de Hipólito, Celeste teve um esgar de espanto. A sua Menina estava mesmo transtornada. Desde a queda na rua que já não actuava da mesma maneira. Aquele doente parecera virá-la do avesso.
A navalha, afiada dias antes pelo amolador ambulante, deslizou segura, rapando a barba dura. Mas os efeitos foram electrizantes para Chico. Há muito que não conhecia a presença duma mulher tão perto dele. E uma mulher limpa, asseada, com um perfume feminino e um forte cheiro a sabonete. Era magnífico e consolador. Perturbante até, para ele que nos últimos anos resvalara na degradação e na promiscuidade de mulheres ordinárias.
Se não fossem os acontecimentos do dia, ela nunca faria aquela barba. Ao mesmo tempo que se arrependia, deleitava-se num estranho fascínio. Nunca tocara assim na cara dum homem que não o avô. Um sentimento delicioso percorria em cachoeira o seu sangue, não se atrevia a olhá-lo de frente e demorava-se mais do que era necessário.
- Pronto, acabou-se. Está agora com cara de gente - disse, com pena de terminar.
- Sinto a cabeça mais leve, mais fresca. É o milagre das suas mãos.
Não havia razão para se demorar mais. Celeste chamava-a para o jantar. Concertou o arranjo das almofadas para o conforto dele e ia já a sair quando Chico, algo embaraçado, lhe pediu:
- Não podia vir depois do jantar conversar um bocadinho? Conversar com alguém é tão bom. Não se fica tão só.
- Prometo voltar - respondeu, um novo enleio a atravessá-la. Victorina, em baixo, comeu pensativa. Era a primeira vez que
alguém tão aberta e humildemente lhe rogava ficasse ao pé dele. Se era só para agradar, procedera magistralmente. Ela, simplesmente, não sabia negar-lho. Depois da refeição, ainda se demorou no dia-a-dia doméstico, com recomendações a Celeste e A-Kuong. Vagamente, planeava uma visita à chácara, mal surgisse o primeiro sopro da Primavera. Com o jornal na mão, subiu para o quarto dele.
Sentou-se numa cadeira, junto da mesinha-de-cabeceira, alumiada por um candeeiro de petróleo. Abriu o jornal e perguntou se queria ouvir as notícias, exactamente como fazia com o avô. Pôs-se a ler, com voz clara e bem timbrada. Sentiu os olhos dele a observá-la nos mínimos gestos. Seria que estava a examinar o olho vesgo? No princípio, ainda tentou colocar-se numa posição mais favorável, mas, por fim, reconsiderou. Ela tinha a cara que tinha, e era escusado fugir a tal realidade.
A propósito dum eco de Xangai, largou o jornal e relatou as impressões que se lhe gravaram da grande cidade. Comparou o viver dos chineses de Macau com os do Norte. Em seguida, descreveu um dia nas corridas, a sorte que tivera na quarta corrida, comprando um cavalo a que ninguém dava nada.
Havia no diálogo toda uma intimidade que até então não surgira entre eles. Saborearam a conversa, interrompida aqui e ali com risos. Falar assim tão à vontade com um estranho era sublime, experimentou um genuíno prazer, que lhe apagou todos os desgostos do dia.
A certa altura estacaram. Havia quem cantasse junto às árvores do Lilau, não muito afastadas da casa. Era um grupo de rapazes que, a despeito do frio, garganteavam melodias em moda, ao som de bandolins e viola, canções portuguesas e inglesas, um ou outro fado. As vozes eram afinadas e o acompanhamento apurado. Devia haver por ali, algures, uma moça por quem o tenor mavioso morresse duma paixão assolapada. Depois duma pausa, a mesma voz, com blandícia, gorjeou uma velha xácara macaense:
Catrina, minha Catrina Catrina meu da travessa Nunca bom fica triste, Catrina Vós logo fica condessa
Victorina, de pé, foi espreitar pela janela, nada divisava na confusão das sombras da noite. Mas parecia que a xácara se referia a ela. Bastava mudar o nome de Catrina para Victorina. Seriam essas palavras a premonição da felicidade?
A confirmação de que Chico-Pé-Fêde se instalara firmemente, a viver com Varapau-de-Osso, espalhou-se pela cidade fora. Arrebitaram-se as orelhas, afiaram-se as línguas. Houve exclamações de censura e de indignação, intercortadas por gargalhada geral.
Afinal, fora ela quem aferrolhara Chico-Pé-Fêde. E logo aquele estuporado, com o corpo marcado por doença vergonhosa. Se quisesse satisfazer a sua fome de homem, que ao menos se juntasse a alguém mais decente. Havia tanto viúvo e tanto solteirão disponíveis.
Quem havia de prever que descesse a tal depravação, com aquele ar de sonsinha, de quem não mata uma mosca? Invejavam-lhe os bens, o dinheiro, o atelier, a independência, o inconformismo. Não tinha amigas, não participava nas confrarias religiosas, nem frequentava reuniões de senhoras.
Desde criança vivera sozinha e mantinha-se isolada, como se ninguém do seu sexo fosse digna da sua amizade. Por isso, aceravam-se as ferroadas contra ela. Irritava a arrogância do seu queixo, ao aparecer nas ruas, transportada numa cadeirinha nova e bem ajaezada, em comparação com as vulgares.
Aquele desafio às convenções, à moralidade burguesa, teve a sua paga. Começaram a chover cartas anónimas, um mau hábito da cidade, chamando-a de piores classificações. As tias, que não lhe tinham perdoado a rebeldia e ser herdeira de duas heranças, eram as mais activas na censura e na calúnia. Inventavam depravações nascidas dum pai degenerado. O atelier via diminuir assustadoramente a clientela, houve cancelamentos de encomendas. Na rua, senhoras e filhas-família passavam com a cabeça direita, como se não existisse, ou cumprimentavam-na com frieza. Os cavalheiros tiravam o chapéu, com reserva, ou fitavam-na com insistência. Era a reprovação quase unânime.
Havia quem a defendesse, encabeçados pelo Dr. Tovar, o prestigiado causídico. Em sua frente ninguém ousava a mínima crítica à amiga, depois que ela lhe confiara o relato da história. A boatice excedera os limites do razoável, bradavam os seus defensores. Quem sabia o que de facto se passava portas adentro? Só porque dera a mão a um valdevinos que não obtivera a caridade de ninguém, senão dela mesma? Por que não a deixavam em paz, a viver como bem lhe apetecesse, sem prejuízo para ninguém?
Inevitavelmente, Victorina ressentiu-se. De repente, tornara-se uma mulher notória, uma «mulher escarlate». Bastara-lhe esquecer as regras do conformismo e os preconceitos da moral convencional para todo o mundo se assanhar contra ela, ela que sempre evitara, como princípio inalterável, meter-se na vida alheia.
Como quase sempre acontece, a crítica dos seus censores e maldizentes induziu-a a uma resistência feroz. Jurou que iria até o fim. Chico só sairia da sua casa quando estivesse bem curado. Não permitiu que as notícias da rua chegassem até ele, proibindo Celeste e A-Kuong de retorquirem a quaisquer perguntas indiscretas e a quaisquer tentativas de o visitarem ou mandarem missivas. Fechou-o num casulo protector, até o restabelecimento completo.
Todas estas circunstâncias impeliram-na a procurar a companhia dele, a refugiar-se no seu quarto e dedicar-lhe mais atenção do que, no fundo, requeria. Aquilo que começara por um acto de mera caridade transformara-se numa crescente amizade.
Chico, recuperando de dia para dia, ganhou a sua proverbial jovialidade. Desaparecida a amargura do desespero e do pessimismo, divertia, com o seu tagarelar, cada vez mais exuberante. Acabou por conquistar Celeste, A-Kuong e o resto da casa, à medida que se convenceram de que não tinha lepra ou coisa semelhante. Secundando a Menina, riam-se das suas pilhérias e recordações. Chico sabia escolher os tópicos de conversa que não feriam a dignidade das senhoras e dispunham bem. A educação dada pelos tios vinha à tona, era gentil, cativante na amabilidade e na espontaneidade da graça. Havia, é claro, os pontos negros da sua personalidade, que deviam preveni-las a precatarem-se da crescente simpatia. Mas como estrangular isso, se o contacto era diário e de longas horas? Nas confidências que se estabeleciam entre Victorina e Celeste terminaram ambas por duvidar da sua fama de malandro e ficavam admiradas que esse homem pudesse ser o autor de tantas tropelias passadas. Quanto ao A-Kuong, Chico conquistou-o definitivamente quando revelou a melhor técnica de pescar o nairo e a «asa-amarela» e descreveu os melhores rochedos de Macau para lançar a isca e o anzol. E também quando se referiu à sua predilecção pela caça ao chinês, saudoso das manhãs venatórias em que acompanhava Gonçalo Botelho nas batidas às rolas, perdizes e narcejas, nas várzeas de Mong Há, da Lapa e da «terra-china».
A casa, onde outrora dominava o silêncio e a solidão, era agora repassada de riso. Em certos momentos, as gargalhadas ecoavam até à rua. A vizinhança, com a sua curiosidade doentia, zangava-se com aquele portar «escandaloso», imaginando tudo menos cenas inocentes de boa camaradagem. Ficaria realmente admirada se soubesse que ele a continuava a tratar por «Menina Victorina» e ela teimava no «Sr. Francisco».
Numa tarde de domingo, em que o Sol iluminava, rompendo o nevoeiro de dias plúmbeos e cerrados, anunciando a Primavera, e justamente quando o riso estridulava ante as anedotas do convalescente, que recordava as partidas da adolescência, a campainha soou, com uma nota desagradável.
Quem seria ou não seria, Victorina veio para o corredor, fechando a porta do quarto de Chico. Momentos depois subiu Celeste, anunciando que era o pároco da freguesia. Franziu os lábios, adivinhando a razão da visita. Há muito que a esperava e, portanto, não se surpreendeu.
- Está na sala. Já lhe servi o chá.
- Diga-lhe que já desço.
Trocou rapidamente o vestido por um azul discreto que lhe emprestava distinção e circunstância, deu novo arranjo aos cabelos e desceu. Quando enfrentou o padre, estava muito digna e senhora do seu nariz, pendendo dos lábios um sorriso amável de dona de casa. Na sala, de belo mobiliário de Xangai, impregnada do cheiro de alfazema e benjoim, onde o sol coava à média-luz das persianas abertas, a mancha da batina emprestava um ambiente de sacristia rica. O padre estava impressionado, aquilo não era um antro de devassidão.
Sentados um em frente do outro, ela muito direita, na expectativa, ele a limpar o suor acumulado no colarinho do pescoço, começaram com conversa corriqueira. Enquanto Celeste imediatamente servia a merenda, P.e Miguel, forte e rubicundo, foi agradecendo as flores que ornamentavam os altares da devoção, o óbolo generoso aos pobres e o contributo para as obras de beneficiação do edifício da igreja. Era nova na paróquia, mas já demonstrara ser uma das mais devotadas fiéis. Mereciam encómios a sua bondade e cooperação e ele não se escusava em exaltá-las a todo o momento. Só que ultimamente... Aí, o discurso atropelou-se, em nítido embaraço. Victorina não se desconcertou. Passando uma fatia de bolo de passas, indagou, suavemente:
- Trata-se de Francisco da Mota Frontaria, não é? Justamente. Era um assunto delicado, custava-lhe intrometer-se.
Mas é que as suas orelhas estavam cansadas de captar tanta coisa... exageros certamente... que resolvera visitá-la. Afligiam-no as calúnias, a boca rota das pessoas sem escrúpulos que viviam de tecer enredos. Era o pároco da freguesia e não podia ficar de braços cruzados quando via crucificarem uma das suas ovelhas, por quem tinha a maior consideração e respeito. Por isso, ali se achava para escutar a sua versão.
- Oh, Sr. P.e Miguel, muito obrigado. É verdade que o Sr. Francisco está em minha casa, lá em cima, a convalescer duma doença grave que o ia matando. Alberguei-o quando caiu à minha porta, em estado desesperado, e seria desumano recusar-lhe assistência. Foi o que fiz e a minha consciência está tranquila. Mais não segui que os preceitos de caridade que a minha religião impõe.
Não se mostrava culpada nem arrependida. A voz não lhe tremia quando resumiu o incidente do encontro, o cavalheirismo de Frontaria, o estado desgraçado dos seus pés, a tosse e a febre que o consumiam. Naquela emergência, não hesitou em tratá-lo com os conhecimentos de enfermeira que tinha. E lembrara-se dos remédios que o avô utilizava para tais casos, o avô, que fora um bom curandeiro e poderia ter sido melhor se não se tivesse dispersado tanto em outras actividades. A descrição das feridas e do cheiro pestilento impressionou o padre, que não se atreveu a provar das outras guloseimas da merenda farta.
- A Sr.a D. Victorina arriscou-se a muito^.. Foi uma grande responsabilidade. Ele podia ter morrido. Por que não chamou imediatamente o médico?
- Não me ocorreu no momento - disse, depois duma leve pausa. - Apliquei-lhe o tratamento do meu avô e, quando deu resultado, não vi necessidade de incomodar ninguém. Com os cuidados que temos, o Sr. Frontaria poderá andar brevemente. Está hoje em franca convalescença. Não sou só eu em casa. Tenho a Celeste e o A-Kuong a acompanhar-me, sem contar com os condutores da cadeirinha. Quer ver o Sr. Frontaria?
Exactamente como o tenente de monóculo e com grande surpresa dela, recusou-se. O P.e Miguel estava incomodado. O relato das feridas e do tratamento, mais a doçura dos muchi-muchi comidos, tinham-lhe assentado mal no estômago. Temia que lá em cima as chagas lhe fossem mostradas. Acreditava na interlocutora, cuja voz não denunciava o menor tremor e cujo rosto exprimia a candura de quem possui uma alma aberta.
No entanto, conservou-se sentado, apesar do mal-estar. Não completara a sua missão. Estava contente que ela fosse tão franca. Mas havia o decoro a respeitar, certas regras a seguir, principalmente num meio tão pequeno como Macau. Ela era solteira e Francisco Frontaria também o era, com um passado muito pouco recomendável. Colados à sua pessoa estavam os mais detestáveis adjectivos. A sociedade, não conhecendo os pormenores daquelas relações, especulava. Era uma situação irregular, que devia ser delida, para o bom nome dela, do bairro e da paróquia. Não, não estava a pedir que agarrasse no Sr. Frontaria e o pusesse à porta da rua, ao deus-dará. Não seria humano, não seria cristão. Já que ele convalescia, por uma questão de dias, não pedia medida tão drástica, com que certamente não anuiria.
Ela começava a ferver por dentro. Primeiro o Rei, agora a Igreja. Era uma intromissão na sua vida privada. Qualquer outro e indicaria a porta da rua. Mas ele era um padre e cumpria convictamente a sua missão de zelar da melhor maneira pela alma das suas ovelhas. Não lhe podia levar a mal, sob pena de incompreensão e de injustiça.
- Não receio ser crucificada por fariseus que falam mal de tudo e batem no peito, mas viram a cara à prática da caridade efectiva. Já que principiei a tratar o Sr. Frontaria, irei até o fim. O seu restabelecimento é da minha responsabilidade. Quando ficar bom e firme no andar, curado das suas maleitas, deixará a minha casa. Isto posso-lhe prometer.
- E chega. Vou agora descansado - respondeu, genuinamente satisfeito.
Gostava do P.e Miguel, das suas homilias simples, sem tiradas de retórica, indo directamente ao coração dos ouvintes. Ambos tinham chegado a um compromisso, sem ruptura nem hostilidade.
A visita, pouco depois, partiu, consciente duma missão levada a cabo a contento e sem atropelo.
Enquanto Celeste recolhia os pratos, o bule e as chávenas da merenda, Victorina cirandou na sala, foi à janela espreitar a rua e a vizinhança por entre as persianas. Aquela era uma casa cercada. Tinha a impressão de que em torno dela pairava uma curiosidade doentia, uma bisbilhotice desenfreada. Era preciso preservar o «seu» doente desse mundo que não lhes daria tréguas enquanto não voltassem à antiga, ele na rua, ela em casa e sozinha. Só assim acalmar-se-iam as línguas e os olhos, distraindo-se para outros interesses.
Ao afastar-se da janela, tomou uma decisão. Chamou A-Kuong e ordenou que partisse imediatamente para a chácara, a fim de aprontá-la para o dia seguinte. Iam todos viver uma temporada ali, porque o convalescente necessitava de melhores ares. O criado-mor apontou-lhe que a época não era das melhores. Muita humidade, muito nevoeiro, muita chuva. Victorina foi, porém, firme. Não lhe podia dizer que tinha necessidade de se mover e viver longe, por uns tempos, do bairro e da vizinhança intrometida. Chico ultrapassava já a fase de estar na cama e requeria ar livre. Bastaria ele aparecer à janela para ser um desafio à moralidade.
Quando se abeirou da cama, sorria, sem nada trair. Tanta celeuma em volta do desgraçado. E o estranho é que ela o defendia e o protegia, como se fosse seu próprio filho ou um parente muito chegado.
- Como vão os dedinhos de pé? - era a pergunta sacramental de todos os dias, sempre que entrava no quarto.
- Oh, já posso mexê-los sem doer. Sinto vontade de me levantar e ir para a janela aspirar o ar de sol.
- Não tente. Vou-lhe dar uma notícia. Amanhã partiremos para a minha chácara. Conhece. A chamada «chácara de Botelho», que pertenceu ao meu padrinho.
- Na Areia Preta? Oh, é um sítio muito bonito. Nunca lá entrei, mas passei em frente da casa várias vezes, quando ia à pesca.
- Como está a convalescer, ali é um lugar ideal para o efeito. Há espaço, há bons ares e temos um belo jardim. Uma boa casa para repouso.
- Mas é muito longe do seu lugar de trabalho. É por mim que o faz?
- Sim. Não lhe prometi que o havia de pôr completamente são?
- Não sei como lhe hei-de pagar tanta bondade.
- Ora, deixe-se disso...
Uma pausa breve se estabeleceu. Ela sentou-se e abriu o jornal português de Hong-Kong, que se publicava semanalmente, chegado mesmo na véspera. Ler para ele tornara-se um hábito. Victorina tossicou, assentou melhor os óculos e iniciou na primeira coluna.
A voz bem timbrada e para ele musical nos últimos tempos esparramou-se nas frases informativas, mas o pensamento dele andava longe. Fixara-se na palavra «convalescença», que significava «ficar bem de saúde» dentro em pouco e perder aquele doce convívio.
Bem tratado e acarinhado, como um menino mimado, em ambiente de família, cama e roupa lavada, dieta fortificante, com o prazer de higiene renovado, a pele cheirando a sabonete, trocar tudo isto pela cabana infecta e regressar à existência anterior de pedinchão maltrapilho causava-lhe tanto horror como se estivesse para ser condenado à morte.
Não queria aprofundar os seus sentimentos. Só sabia que ao pé daquela mulher se sentia bem e seguro, preservado da hostilidade dum mundo cruel. Roía-lhe o pânico de regressar à solidão da rua, sem arrimo nem família.
Aquela mulher, que lhe devolvera a vida e o prazer da existência, já não era mais Varapau-de-Osso, objecto de zombaria. Via-se a contar as horas para a sua visita, fosse para lhe fazer o curativo, fosse para lhe escanhoar a barba ou simplesmente para conversar e ler.
Jamais a singularizaria entre as outras mulheres, a não ser por troça, nem demoraria mais segundos de atenção, não fora o contacto diário. Movendo-se na sua órbita dia e noite, já não era uma mulher feia, carregando consigo uma pilha de ossos. Descobria atractivos nos pormenores do rosto - a boca perfeita, as sobrancelhas arqueadas e espessas, a pele fresca, em que as pequenas rugas de trinta anos não destoavam. Nem o olho vesgo, atrás dos óculos azulados, parecia ser um obstáculo ao encanto que a pouco e pouco o ia envolvendo. Era um estranho feitiço.
Adivinhava formas redondas naquilo que no princípio parecia constituído por linhas rectas. Com a intimidade, quebrara a reserva que a fazia direita como um fuso. Agora deixava livre a sua feminilidade e os seus dengues de mulher. A meiguice recalcada durante anos estuava nos mais subtis gestos, na voz e nos meneios da cabeça. Vestia-se bem, mesmo dentro de casa, e havia nela sempre um perfume discreto de lavanda e de sabonete. Vezes sem conta subia nele o desejo de acariciar e de mergulhar as mãos naqueles cabelos pretos e luzidios que rolavam em ondas e em cachos no volumoso toutiço.
A voz continuava na sua leitura, toda timbrada e inocente, enquanto ele sofria por perder aquilo tudo num dia de amanhã sombrio.
Era ainda cedo quando a pequena caravana de cadeirinhas partiu do Lilau, a caminho da Areia Preta. Chico, com os pés ainda entrapados e transportado nos braços dos condutores, acomodara-se o melhor que podia na sua cadeirinha, afirmando heroicamente que estava bem instalado. O dia nascera plúmbeo e a chuva descia, com uma bátega rítmica, provocando fios de torrente por entre as pedras da calçada. Não era um dia propício para mudanças de ambiente, mas Victorina não quis esperar mais.
Os condutores, a coberto de capas de palha e do tudum, largo chapéu cónico de vime entrançado, lançaram-se no caminho, sem murmúrios, habituados às intempéries do ofício. Os passageiros, abrigados nos panos de lona que fechavam as cadeirinhas, sentiam a água a correr por fora e respiravam a humidade bafienta do interior.
O trajecto foi longo e monótono, com paragens, aqui e acolá, para descanso dos condutores. Chico, apesar do desconforto que a posição das suas pernas lhe infligia, dormitou, enquanto atrás Victorina espreitava, inquieta, se a chuva e a fadiga poderiam afectar o convalescente. Nada se assinalou, porém, de especial para interromper a deslocação. Quando começaram a ladear a Praia da Boa Vista, a lestada flagelou rija, em cheio. As cadeirinhas rangeram, mas os condutores, estóicos, não perderam a cadência do passo, animados com a proximidade da chácara.
Chico, ouvindo o ribombar da ressaca, em mar agitado, areal acima, estremeceu, picado pelos velhos terrores da infância. Não gostou do sítio para onde o levavam, mas não era ninguém para objectar, na dependência total em que se encontrava doutrem. Porque pior do que isso seria lançarem-no na rua, como a um trapo sujo.
Não se impressionou com a entrada da chácara, com o jardim molhado, nem com a casa, transportado que foi imediatamente para o primeiro andar, para o mesmo quarto onde, respectivamente, Victorina e o pai se tinham hospedado pela primeira vez. Pareceu-lhe lúgubre, desconfortável e vazio, as persianas das janelas a estrepitar aos ímpetos do vento, entreabrindo-se, de vez em quando, para deixar entrar salpicos da borrasca. Um tufão ali devia ser qualquer coisa de medonho. Por que ela se mudara tão depressa, sem aguardar por um dia soalheiro?
Victorina não regressou ao atelier nesse dia. Dispersou os seus cuidados pelos afazeres domésticos para pôr funcional a habitação, abandonada nos meses de Inverno. Faltaram-lhe os momentos prolongados de conversa, sabendo-a em casa. Amuou, sentindo-se roubado das atenções. O pânico instalou-se nele de novo. Que vida seria a sua afastado, pela força das circunstâncias, da presença e da órbita daquela mulher que tanto ocupava o seu pensamento?
A chuva acabrunhante durou dois dias. Mas ao terceiro acordou e descobriu o sol entrando pelas persianas, formando rectângulos doirados no chão. Lá fora havia a chilreada alegre da passarada. O galo da capoeira soltava um longo trinado de sultão, zeloso do seu harém. Pequenos rumores ecoavam no jardim e na estrada. O mar era apenas um murmúrio de confessionário. Não resistiu. Equilibrou-se sobre os calcanhares, tentou uns passos e avançou para uma das janelas. Abriu-a de par em par, respirando fundo. Piscou os olhos ao primeiro embate da claridade azul do céu, estendeu os braços, espreguiçando-se voluptuosamente. O desalento dos dias anteriores esfumou-se. Reparou então que os pés já não lhe doíam, apenas um ardor o molestava. Soltou um grito feliz, que assustou os pombos arrulhadores, que se lançaram para a limpidez do céu.
Recebeu calorosamente Celeste, que lhe trazia um rico pequeno-almoço, depois Victorina, que procedeu ao curativo, agora fácil e rápido. A ambas fez rir com a sua exuberância e alacridade.
- Estou feliz, Menina Victorina.
- Pudera, não! Os seus dedinhos vão magníficos. »
- Estou com vontade de correr.
- Não se impaciente. Daqui a alguns dias já poderá andar. Esperou que o conduzissem para a varanda alpendrada do rés-do-chão para apanhar banhos de sol, sobretudo nos pés, com ordem de entrapá-los depois do tratamento. Com um aceno, Victorina partiu para o atelier. Chico, deitado no canapé de rota, rodeado por velhas revistas de Gonçalo Botelho, viu-a, com melancolia, desaparecer na estrada.
Então apreciou o jardim, a passarada, a calma dormente da paisagem, a branda blandícia do mar. Eram coisas a que outrora não dera o mínimo valor. Como se transformara!
Viveu feliz, decorrendo os dias a espalhar a sua irresistível alegria. Abrigados de olhares e ouvidos indiscretos, todos se sentiam à vontade, em eterno ambiente de piquenique. Chico entretinha com histórias e anedotas, artes de prestidigitador e de mágico, com truques que deixavam a assistência embasbacada. Com ele ao lado, não havia possibilidade de tristeza e solidão, nem quando os dias se encobriam, sob a chuva da Primavera.
Mas o tempo rolava inexorável. Como Victorina predissera, as feridas sararam completamente e ele começou a andar, primeiro prudentemente e depois com passeios mais largos pelo jardim, aventurando-se de vez em quando até a estrada. Mais uns dias e a sua estada ali perdia toda a razão de ser.
Um acontecimento precipitou a sua decisão. Tinham-se passado duas semanas e, aguardando o almoço, distraía-se a limpar as armas de caça de Gonçalo Botelho, sonhando um dia utilizá-las para uma batida às rolas, nas várzeas de Mong Há. Victorina ausentara-se para o atelier e só voltaria ao cair da noite. Celeste, que fora manhãzinha ao Lilau buscar umas coisas, não tardaria. Chico assobiava quando ouviu o ruído da cancela. Celeste entrou e foi direita a ele com uma carta na mão.
- Uma carta para mim? De quem será?
- Oh, Sr. Francisco, não diga nada à Menina. Ela proibiu-me que o incomodasse. Mas o sai kó que a trouxe disse-me que era do seu tio... Era a terceira vez que batia à porta. Entrego-lha... Pode ser assunto urgente... de família.
Apercebeu-se logo de que a sua estada junto de Victorina era conhecida do público. Reconheceu no envelope a letra perfeita do tio. Teve, antes de rasgá-lo, o pressentimento de que não continha nada de bom. O tio, a escrever, só lhe podia mandar raios e coriscos.
A missiva era curta. O Tio Timóteo reverberava, em estilo empolado, que, embora de relações cortadas, não podia suportar indiferente a situação irregular, albergado em casa de mulher solteira. Fora amigo de Hipólito Vidal, tinham sido colegas no Seminário e havia que respeitar a honra duma mulher que até então fora considerada «virtuosa e imaculada». Se estava doente, havia o hospital. O seu dever era sair imediatamente daquela casa honesta e não conspurcar mais a inocência duma alma pura. Acreditava no pundonor e na castidade da filha do amigo, «lídimo exemplo de abnegação e de bondade». Mas a sociedade não perdoava. Ambos corriam nas bocas sujas do mundo. Clamava contra a volubilidade do sobrinho, que assim atingia e denegria a reputação de quem «pertencera ao crisol e ao florilégio das castíssimas damas de Macau». O tempo de brincadeiras passara. Nem a mendicidade, em que vivera aos caídos, parecia tê-lo corrigido. Não podia repetir-se o drama da Pulcritude Saturnino. Se ainda possuía um resquício de hombridade dos Frontarias heróicos, o caminho era um só. Não se esquecesse jamais que, em todas as leviandades, quem ficava mal era sempre a mulher, por ser a parte mais vulnerável.
- Um idiota, este meu tio - foi a sua primeira reacção. Assim se estragam todas as belas intenções, fruto da bondade e de bem servir o próximo.
Despachou, com um sorriso, Celeste, que o mirava ansiosa, sossegando-a. O tio limitava-se a perguntar pela sua saúde. Não convenceu muito a «crioula». Se essa era a solicitude do parente, por que o deixara a ele, a cair de morto, com a podridão nos pés? Quando se afastou, carão apreensivo, Chico encostou-se à parede. Ouvia o crocitar do galo, o riso de mulheres na cozinha, mas o pulsar do seu coração cobria mais do que tudo. Afinal, vivera no limbo e na ilusão de que o recolhimento na casa do Lilau se mantivera secreto.
Pensativo e infeliz, guardou as espingardas luzidias e foi para o sol. No almoço não comeu com o seu proverbial apetite, que vencera a palidez e a magreza, devolvendo carnes e músculos ao corpo. Os olhos inquietos da Celeste acompanhavam-no nos mais ligeiros movimentos. Dormiu a sesta no canapé da varanda e, ao despertar, conservou-se melancólico, contra os hábitos. Ao cair da tarde, não aguardou pela chegada de Victorina, como costumava. Saiu para a estrada, aventurou-se para a praia e sentou-se nuns escolhos, fitando as ondas, que morriam em espuma larga e branca.
Não era um espírito contemplativo. A melancolia dos crepúsculos, as tonalidades do céu reverberando ao capricho dum sol moribundo, nunca o tinham impressionado outrora. Costumava até apoucar os taciturnos que procuravam os ermos para expandir uma dor secreta. Não medira que um dia poderia encontrar-se numa situação semelhante, e ali estava ele encostado à rocha, amarfanhado pela tristeza dum próximo adeus.
Um frufru de saias, passos na areia, fizeram-no voltar-se para trás. Victorina parou, mirando-o com ar desolado. Nem sequer tinha mudado de vestido e as botinas, impróprias para o areal, cobriam-se de poeira fina. A sua silhueta esguia, recortada pela luz que vinha dos cimos doirados da colina de Mong Há, delineava-se muito frágil.
- Vim buscá-lo. Não devia andar tanto.
- Estive a pensar. Recebi uma carta... Do meu tio.
- Eu sei. A Celeste disse-me. Tinha-lhe proibido que o incomodasse.
- Não se zangue com ela. Julgou tratar-se dum caso urgente. Estendeu a missiva amarrotada, que ela leu sem nenhum comentário.
- O meu tio tem uma maneira de escrever muito inchada. Não percebi o significado de muitas palavras, mas percebi a razão por que escreveu. Nunca pensei que houvesse tanta maldade que vira do avesso a verdade.
- O seu tio está bem-intencionado. Tudo o resto é mesquinho, é vil e baixo. Juro-lhe que não me sinto enxovalhada com todo este lodaçal que me atiram. Apenas quis curá-lo para se tornar num homem são.
- Já estou curado.
- Quase. Precisa ainda duns dias. A pele dos seus dedinhos ainda está muito tenra para suportar longas caminhadas. Não devia andar tanto.
Ele fitou-a longamente, o rosto vincado de linhas firmes, que não correspondiam à sua habitual expressão bonacheirona.
- Tenho de partir. Depois do que sei, não posso continuar aqui. Não é justo...
- Oh, se é por minha causa, afirmo-lhe que não me importo.
- Importo-me eu. Fez por mim mais do que podia esperar duma mãe ou duma irmã. Durante a minha doença e convalescença tive muito tempo para meditar. Aprendi muito. Modifiquei-me, nem me conheço. Não tenho o direito de prejudicar mais quem me estendeu a mão quando todos me repeliram e eu mesmo me considerava perdido para sempre.
Mergulhou os pés na areia e, num gesto que imitava espantosamente o rio, acrescentou.
- Estou bom... estou forte. As férias acabaram-se, tenho de ganhar a minha vida. Não posso manter-me nesta inactividade quando me sinto válido e nada justifica a continuação do descanso. Voltei a possuir aquilo que julgava não mais adquirir. O brio... a dignidade.
Endireitara as costas, todo senhor de si, e seria motivo para riso noutras circunstâncias. Victorina respeitou aquelas palavras, comovida. Seguiram-se outras tiradas, mas ela já não as acompanhava. Só havia a dolorosa realidade de que ele ia partir.
- Para onde vai viver? Para a cabana de madeira?
- Não, para aquela casota de animais, nunca mais. Hei-de arranjar-me.
- Quem o ajudará? O seu tio?
- Não, a ele não peço nada. Estamos de relações cortadas e ele só me encara como um tratante da pior espécie. Não digo que não tivesse razão no passado. Não posso apresentar-me diante dele como um pedinte. Não faço isso...
- Então, diga quem...
- Não sei neste momento. Ainda fico com alguns dias para.pensar. Quantos dias mais calcula que preciso para ir à vida?
- Uma semana...
- Então, fica decidido. Uma semana.
- Não tem dinheiro nenhum...
- Safar-me-ei.
- Voltará a viver como antigamente?
- Não. Já não sou Chico-Pé-Fêde.
Ela estendeu-lhe a mão, num gesto espontâneo. Suavemente, murmurou:
- Venha para casa. O vento levantou e está muito fresco. Uma pessoa constipa-se com facilidade.
A mão era quente, envolvente. Ele seguiu-a docilmente uns passos. E depois estacou, a voz embargada:
- Eu preciso de partir, Menina Victorina. Não basta dizer que me modifiquei. Preciso de prová-lo a si...
- Sou tão importante... Sr. Francisco?
- É.
Celeste destacou-se, atravessando a estrada, a chamar por eles. Trazia agasalhos contra o vento. Rompera, sem o saber, um momento mágico que podia precipitar algo que ambos temiam ao contacto dos dedos. Victorina recolheu a mão, apressando-se. Disperso o encanto das palavras, não houve ocasião para recuperá-lo, perdidos nas trivialidades do quotidiano, ambos subitamente tímidos.
Pela primeira vez, Chico jantou na companhia de Victorina, na casa de jantar, totalmente transformada pelo gosto da nova patroa, que lhe dera um tom e estilo tão diferentes de Gonçalo Botelho. Na mesa entreteve as mulheres, como sempre, e, se sofria, não o mostrou. Em seguida mudaram-se para a sala de estar. Fora-se a cama de ópio, recolhida para o sótão. E também as melhores porcelanas, que agora estavam no Lilau. Mas as mobílias de pau-rosa continuavam, mais o piano de cauda, a sala arejada, com o toque de feminilidade no arranjo e na ornamentação.
A dado instante, Victorina dirigiu-se para o piano e tocou com emoção, a cabeça concentrada no teclado, evitando o olhar de Chico. E a tristeza e a saudade de abandonar aquilo tudo regressaram nele, insidiosamente.
Os dias singraram inexoravelmente para o final. Ambos escondiam bem o turbilhão de sentimentos que os chocalhava. Nem um nem outro fazia qualquer menção da iminente despedida. À superfície tudo se mantinha como dantes. O mesmo respeito, a mesma cordialidade de bons amigos. Ambos falavam de coisas banais, insistiam em assuntos que, no fundo, não lhes interessavam. Não voltaram a contactar com as mãos, fugindo de se encontrarem sozinhos, ela deixando de lhe fazer a barba, com a desculpa de ele já estar curado. Representavam apenas. De repente, caíam em silêncio, Victorina dirigindo-se bruscamente para a porta, ele sempre atravessado, com o risco duma lágrima rebelde, a assoar-se.
Só no penúltimo dia Celeste e A-Kuong souberam que Chico se preparava para se ir embora, quando, em segredo, viram Victorina preparar as malas, pondo a roupa de Hipólito Vidal bem arrumadinha nelas. A «crioula», chocadíssima, inquiriu:
- O que vai ser de todos nós? Por que não lhe pede que fique? Está nas suas mãos.
Victorina abanou a cabeça, incapaz de responder. Celeste prosseguiu, angustiada:
- Vamos ficar outra vez sós, como antigamente.
O queixume traduzia uma decepção genuína. Habituara-se, como A-Kuong e outros, a tê-lo sempre ali, a encher a casa com a sua alegria e boa disposição. Longe ia o tempo em que o desprezara, como um leproso. Não compreendia por que não ficava. Parecia-lhe tão fácil. Ia pronunciar a palavra mágica quando Victorina disse:
- Ele parte porque precisa de trabalhar. Já não está doente, não precisa dos nossos cuidados.
- E não volta?
- Há-de voltar. Por que não há-de voltar?... Olha... eu não sei. Não lhe perguntes nada. Ele sabe o que faz. É um homem.
- Quem nos vai fazer rir de hoje em diante?
Não soube responder. Era verdade, que seria das noites alegres que tinham gozado na companhia daquele homem? Como substituí-lo, quando conquistara, sem forçar, um lugar naqueles corações solitários? Subitamente, as duas mulheres abraçaram-se, tentando consolar-se em vão, rogando Victorina à amiga que não pranteasse no jantar.
No quarto do lado, Chico deitava contas à vida. Saía sem cheta, nada pediria, apenas com a roupa que tinha no corpo e que pertencera a Hipólito Vidal, já que não poderia ir, estrada fora, nu. Da janela contemplava o jardim, parte das hortas vizinhas, um pedaço da colina, todos imersos na escuridão. Havia um forte cheiro da terra em gestação primaveril. Estava tomado de pânico. Basofiara, fizera-se herói, mas temia o encontro com a cidade que o repudiara, para onde regressava, sempre pobre como Job. Um gesto de fraqueza e teria para sempre guarida naquela casa. Mas não passaria dum parasita, comendo cinicamente da mulher, que não merecia semelhante baixeza. Não, chegara a hora de afirmar-se, fossem quais fossem as circunstâncias.
Um leve bater da porta e Victorina e A-Kuong entraram com as malas. Fitou surpreso. Ela, muito direita, esforçando-se para ser natural, disse:
- Este é o enxoval que vai levar. Não me interrompa, por favor. São roupas de meu pai que guardei por razões sentimentais, mas que são mais úteis para si do que metidas no armário. Teve sorte, porque os fatos e as camisas assentam bem no seu corpo. Aceite. Não ia deixá-lo partir com andrajos. Receba também este relógio de bolso, que se está a estragar pelo seu constante não uso.
A-Kuong, muito grave, retirou-se. Chico fez um gesto exprimindo agradecimento, sem contudo articular palavra. Victorina prosseguiu, sempre no mesmo tom:
- Tenho um emprego para si. O Dr. Tovar precisa dum copista. O Sr. Francisco tem boa letra, a mais bonita letra que eu vi escrita num papel. Apresente-se amanhã, ou logo que puder, no escritório dele. Sabe onde é. Na Praia Grande. Falei com ele, que prometeu experimentá-lo.
- Menina Victorina...
- O Dr. Tovar teve as suas objecções, mas eu garanti que o Sr. Francisco se há-de empenhar no trabalho. Tenho a certeza de que não me vai decepcionar.
- Prometo. Eu...
- Não agradeça. Não desejo vê-lo outra vez de porta em porta.
- Não me verá.
Guardou no bolso a carta de apresentação e o relógio de ouro com corrente. Ia já para a janela, para ocultar o seu rosto, quando ela estendeu ainda um saquinho de veludo, acrescentando:
- Aqui tem algum dinheiro. Não recuse, seria bem pouco prático. Não possui nenhum e não pode dar um passo sem ele. Não é uma esmola, é um empréstimo, se isto satisfaz o seu orgulho. Ele permitirá aguentar-se por uns tempos. Simplesmente, não pode sair daqui para a miséria. Seria estragar tudo, depois de termos tido tanto cuidado em tratá-lo.
Ele sentou-se na cama, abatido pela vergonha e remorso. Até a partida dependia da generosidade daquela mulher. Num gesto de revolta, disse:
- Eu só tenho recebido e nunca dei nada em troca.
- Engana-se. Deu muito. Deu alegria a uma casa triste, espantou dela a solidão e ensinou o que era o riso, vindo directo do coração. Isto bastou. São dádivas que não posso esquecer.
A mão consoladora e meiga desceu sobre o seu ombro.
- Venha jantar. Não faça triste a Celeste, que preparou de propósito pratos deliciosos. Não demore.
O frufru das saias desapareceu depressa, mas a impressão do afago da mão mágica ficou, como uma queimadura. Gostaria de retê-la demoradamente, mas deixara fugir a oportunidade. Victorina era uma mulher diferente de todas as outras que conhecera. Não sabia lidar com ela, actuava como um menino tímido, ele que fora o rei da boémia. Mas queria-a, disto não tinha a mínima dúvida.
No jantar comeu pouco, embora se alargasse em rasgados encómios à Celeste, que levava constantemente o avental aos olhos. Evitava encarar Victorina, fazendo-se forte, desviando a atenção para as paredes ou para o prato. Ouvia as recomendações como um menino de escola, sobretudo a forma de preparar a tisana de Pablo Padilla, que lhe asseara o sangue de todas as porcarias e que não devia deixar de tomar. Houve hiatos na conversa, que morria subitamente, substituída pelo tilintar dos talheres. Foi com alívio que se levantaram da mesa.
Na sala, durante o café, a tensão que se estabelecera entre os dois cresceu. Victorina aproximou-se do piano e tocou partituras inglesas que evocavam brumas e prados verdejantes, puxando ao sentimento.
Chico, em religioso mutismo, seguia-a nos mínimos movimentos, fixando os olhos no perfil esguio, na esplendorosa cabeleira, fulgindo à luz do candeeiro de petróleo, e nos fios rebeldes da nuca, que escapavam à disciplina do toutiço e derramavam uma estranha sensualidade. Latejava, dominado por um calor que sabia não ser somente da temperatura do aposento.
Um estremecimento delicioso e perturbante percorria-a também, à medida que adivinhava ser observada dum modo fervoroso que não notara noutros dias. Terminou abruptamente, alegando que falhava, agradecendo os aplausos do seu único ouvinte. Não havia pouco mais que dizer, ambos refugiados nas cadeiras de pau-rosa. A conversa resvalou penosa, com outras tantas pausas, desejando animar-se na companhia um do outro, não sabendo, porém, como. A simples camaradagem de amigos fora-se.
Lá de fora veio um brando rumor de chuva, que contrastava com a rutilância do sol da tarde. O relógio tangeu, como num sobressalto.
- Oh, é já tão tarde.
- Não reparei.
- É melhor irmos descansar. Amanhã é um grande dia. Não subiram imediatamente. Ele bebeu a tisana milagrosa que,
juntamente com o unguento do «espanhol», o tinha curado, os gestos vigiados por ela, que não permitia desperdiçasse um resquício que fosse. Continuavam sozinhos, a casa dormia.
Em cima despediram-se, no patamar, cada um para o seu quarto, só com um breve «boa-noite». Não se tocaram, ambos infelizes por não saber como proceder melhor.
Ao fechar a porta atrás de si, Chico mirou, desolado, as paredes do aposento que se habituara a chamar seu. Cerrou os punhos de desespero. Amanhã iria enfrentar um mundo hostil e desconfiado, com todos os riscos duma aventura.
Despiu-se, lavou a cara e as mãos, vestiu o pijama e sentou-se na cama, a imagem de Victorina estampada nas paredes e nas sombras da noite. A cama era um vazio branco e hostil. Relutava-lhe deitar-se nela e contar os minutos e as horas até que um sono de bronco descesse misericordiosamente. Começou a andar de cá para lá, arrastando as chinelas, na estéril tentativa de fatigar-se. Nem encharcando os braços e as mãos em água fria atinava em acalmar-se.
Do outro lado, Victorina trajara-se para a noite, vestindo uma das belas camisas de dormir que comprara em Xangai. Desprendera os cabelos e, quase sonâmbula, perfumara-se. Havia a expectante premonição de que a noite não acabara. Deitou-se, com os olhos na porta, à espera de qualquer coisa que tardava. O coração pulsava acelerado na vertigem dum tormento que não compreendia ou compreendia muito bem. Apercebia-se de todos os ruídos e surpreendeu o arrastar de passos no quarto vizinho, num vaivém incessante. Ergueu-se. A solidão sufocava-a, como se estivesse encurralada numa prisão. Lamentava-se, em mudo queixume, de que não soubera retê-lo mais tempo na sua companhia, quando havia ainda tantas horas à frente.
Lá fora ramalhavam as árvores. Era a Primavera molhada, com fortes borrifadas de chuva e silvos de vento entrechocando as persianas das janelas. Longe, ronronava a trovoada e a ressaca sobre a praia.
Uma estranha secura molestava a garganta de Chico, precisava dum copo de água. O quarto parecia-lhe agora desmesuradamente pequeno, carecia de ar e de espaço. Dirigira-se para a porta, com o pensamento no jardim, onde a chuva seria bendita, como um bálsamo.
Girou o fecho e espreitou. Deslizou para o corredor escuro, calcorreou às cegas, vacilou, o coração aos pulos, junto da porta de Victorina, e continuou. Tropeçou, com a rótula de encontro à aresta dum armário. O ruído atormentou-o tanto como a dor, praguejando baixinho.
Nisto, uma luz de vela alumiou o corredor e Victorina apareceu. Vinha com a mesma camisa, os cabelos descendo em cascata pelos ombros, uma visão irreal, cor-de-rosa.
- Acordei-a.
- Não tinha sono. Queria ver o que lhe tinha acontecido.
- Sabia que era eu?
- Sabia.
- Ia buscar um copo de água.
- Eu desço.
- Não.
Ele chegou-se instintivamente muito perto e sentiu-lhe o perfume dos cabelos. À luz bruxuleante da vela, tinha um rosto diferente.
Atrás dos vidros azulados dos óculos, o olho vesgo cintilava misteriosamente.
- Victorina.
- Tenho medo de estar sozinha... A trovoada.
- Eu estou aqui.
Segurou-a pelos ombros, como quem dá guarida, e ela não fugiu nem pôs resistência.
- Cuidado com a vela.
- Victorina...
A chama apagou-se e a vela resvalou para o chão. Impeliu-a para si, os braços fechando o corpo pelas costas e pela cintura frágil. O bafo saudável dela envolveu-o, numa entrega submissa.
- Francisco... Chico.
Unidos no sentimento comum, os lábios procuraram-se no primeiro beijo de amor, ela ainda num desajeitamento tocante, mas com o mesmo ardor dele. O corpo requebrou-se num inebriante desmaio, que ele susteve, viril e triunfante.
- Vem.
Estavam no quarto do antigo dono, que ele transformara num verdadeiro ninho de conforto e aconchego. Ele tinha-a nos braços, leve e delgada como um vime. Victorina, rendida e vencida, enroscara-se no peito cabeludo, esquecida do mundo e protegida porque já não estava sozinha.
Na semiobscuridade do leito enorme, que outra chama bruxuleante de lamparina alumiava, Chico chamou-a para si para lhe contemplar melhor a cara. Os vidros dos óculos faiscavam, húmidos e patéticos, com um dos aros solto. Tirou-os sem dificuldade, ao mesmo tempo que ela se acanhava, desviando a cabeça.
- Não me olhe assim... Sou tão feia.
A voz dele sussurrou, convicta, embargada pela emoção:
- Nunca mais me digas que és feia. Nem uses mais estes óculos, se puderes. Tu és aquilo que és e é assim mesmo que eu gosto. Não quero outra... não quero que sejas outra.
Estremeceu com a surpresa dos seios pequenos, cujas redondezas duras e firmes eram autênticas descobertas e desmentiam a infame alcunha. Ela suspirou num dengue voluptuoso, oferecendo-se ao toque mágico. Sabia o que tudo aquilo significava, essa entrega confiante e cega a que já não podia esquivar-se. Nesse momento só queria amar e ser amada, colher o sofrimento e o êxtase e jorrar, com generosidade, o imenso manancial da sua ternura.
A uma carícia mais eloquente, ela gemeu, revirando o olho que tanta tragédia lhe trouxera, mas que naquele instante luzia como um feitiço.
- Não sei nada. Nunca me ensinaram o que isto é
Afundou-se no corpo dela. Nunca lidara com uma mulher do tipo de Victorina. No passado familiarizara-se com a crueza dos alcoices e a ligeireza de ligações puramente carnais. Agora não se tratava disso. Tudo em Victorina era novidade. Descobriu, com o espanto dum neófito, que o amor podia transformar a posse em algo de mais sublime, uma plenitude de sonho e de infinito.
E, longamente, ao gotejar da chuva nos beirais e do rumorejo de trovoada e de ressaca, ouviu-se a sinfonia do amor, em murmúrio e sons desarticulados, mil vezes repetidos e balbuciados...
Partiu. Entrou na cadeirinha e não olhou para trás. Tinha de demonstrar que era um homem que não se quebra com pieguices e fraquezas. Celeste chorava abertamente, A-Kuong estava desolado, perguntando quando iriam ambos cumprir o prometido, isto é, à caça e à pesca. O que lhe interessava era a Victorína. Depois das juras de amor, não havia ocasião para lágrimas. Ela aparecera cheia de frescura e sem óculos, a pele trigueira toda rosada, como se lhe corresse nas veias sangue novo. E ele sentia-se leve, resoluto, capaz de enfrentar todas as contingências. Mergulhou na cadência da cadeirinha, revendo as imagens da noite anterior.
Vindo de extramuros, a hora fora bem escolhida. Às nove e meia da manhã trabalhava-se nas repartições. A cadeirinha chegou à Rua do Campo, balanceando com lentidão, Chico impávido, como um grande senhor. Se atraiu atenções, não vislumbrou cara particularmente conhecida. Pouco depois paravam diante da Pensão Aurora.
Era o seu destino. Conhecia o rés-do-chão da pensão, onde jogara o bilhar, frequentara o botequim e tomara largas refeições no restaurante. No passado reinara ali, como um nababo, estoirando em prodigalidade. Sabia que no primeiro andar havia bons quartos e aceitavam-se hóspedes. Fora amigo do dono e óptimo freguês. João Tomé Zacarias recebê-lo-ia bem, por estar asseado e com dinheiro.
Havia duas portas e entrou por aquela que dava acesso à pensão propriamente dita. Por detrás do pequeno balcão divisou a figura familiar do patrão, meão de altura, magro, nariz muito vermelho, cabelos grisalhos, rondando entre os quarenta e cinquenta anos. Usava um fato preto, invocava imediatamente o retrato dum lavrador proprietário de Portugal.
Tomé Zacarias ergueu-se, farejando freguês. De imediato, não reconheceu Chico. Este achava-se lavado de mais para o relacionar com o vadio imundo que dois meses atrás ainda caminhava nas ruas da cidade, aos tropeções, tresandando repulsivamente. Ao fixá-lo melhor, recuou, dominado por um genuíno espanto.
- Mas é o Chico... Está tão mudado.
- São coisas que acontecem. O meu nome é Francisco da Mota Frontaria.
- Pois claro. Se não o conheço. Foi até um dos bons fregueses da casa.
- Obrigado. Desejo hospedar-me aqui.
Tomé Zacarias, antigo «tropa» e português radicado há dezenas de anos, hesitou, em lembrança do passado recente.
- Eu tenho dinheiro para pagar.
O sorriso de Zacarias alargou-se. O fato e a apresentação do hóspede indicavam que voltara à antiga. Discutiram as condições. Em princípio, um mês, com pensão completa e pagamento adiantado, isto na boca de Chico. O preço pedido estava dentro das suas possibilidades. Com o dinheiro que trazia podia alargar-se em certo luxo. Pagou imediatamente.
Subiram ao primeiro andar. Duma das janelas, que dava para o pátio interior, vinha um cheiro apetitoso de carne guisada. Os cozinheiros, em baixo, atarefavam-se num estardalhaço de panelas. Rumores de criadagem, estrépito de louça e talheres. No primeiro andar, no entanto, o sossego era repousante. Havia um zumbido de moscas que não chegava a incomodar. Não ecoava ainda o barulho dos bilhares e o vozeirame dos fregueses do botequim e do restaurante.
O quarto era enorme, simplesmente mobilado, as paredes nuas, sem uma litografia encaixilhada para alegrar. Dominavam-no um armário pesado e alto, uma cómoda e uma cama com baldaquino, donde balançava, enrolada, a caia. Um quarto sem alma e indiferente. Apreciou a limpeza, gosto que recuperara desde que vivera sob influência de Victorina. Experimentou a cama. Era provecta de anos, a enxerga razoável, com molas passáveis. Para uma pensão não podia exigir-se mais. Entusiasmou-se com a varanda já projectada para a rua, fazendo ângulo para um pedaço de quintal. Havia neste um bocado de horta, que achou suculenta, árvores de fruta, como papaieiras, uma goiabeira e uma bananeira. Frangos tê-los-ia sempre à refeição, a carne tenra e fresca, com a quantidade de galinhas e pintos que picavam o chão da capoeira, em constante cacarejo, sob o olhar impávido do galo, que logo lhe lembrou o «sultão» da chácara. Sentiu uma lancetada no coração, mas logo gabou da sorte. Para o começo duma vida nova, os auspícios eram favoráveis.
Zacarias ainda se demorou, curioso por descobrir a «fortuna caída do céu» que mudara do avesso a miséria de Chico-Pé-Fêde. Encontrara, porém, uma barreira de laconismo que o desanimou. Antes de sair deu as últimas informações. A casa de banho ficava no fundo do corredor e, sempre que quisesse, teria água quente para o banho.
Quando se viu só, pôs-se a arrumar a roupa no armário e na cómoda. Suspirou pela falta duma mão de mulher. Durante dois meses, Victorina e Celeste tinham-no habituado mal, com a existência de príncipe. A saudade dum quotidiano estável, com sabor a lar, encheu-o de súbita nostalgia.
Distribuiu as roupas nas gavetas, seguindo uma ordem. Era uma coisa estranha herdar tudo dum morto, cuja lembrança era vaga, roupa que lhe assentava menos mal no corpo e fora preservada pela devoção duma filha e passara para ele, Chico, por amor. Tirou o relógio do bolso e suspirou outra vez. Tudo que possuía vinha da generosidade de Victorina. Até a virgindade lhe entregara, sem condições. Passou a mão pela face escanhoada e recordou-se doutra mão a raspar-lhe docemente os fios grossos das faces e do queixo.
Resolveu não se demorar no encontro com o advogado. Escolheu com meticulosidade a indumentária e os sapatos para a apresentação. Era o Francisco Frontaria ressuscitado, a preocupar-se com o laço, com a brancura do colarinho e da camisa, o asseio das unhas e dos sapatos.
Trajado dum fato fino de flanela - os calores ainda não justificavam outro pano -, gostou da figura desenhada no espelho. Causaria boa impressão em quem quer que fosse. Deu uma demão ao lenço do bolso da lapela, lamentou não ter uma flor discreta, ajustou melhor o laço no ângulo do colarinho. Definitivamente, Chico-Pé-Fêde morrera.
Na rua hesitou se devia andar até à Praia Grande. Soprava o vento sul, trazendo, de repente, uma elevação da temperatura e humidade. Não queria chegar ao escritório do advogado com o fato empapado de suor.
Em vez da cadeirinha, acenou por um rickshaw, esta nova forma de locomoção que ganhava cada vez mais adeptos, por ser mais veloz que a outra. Desconfiava de tal veículo, o condutor entre os varais, por não garantir a segurança. Se o cule tropeçasse, era um mergulho desastroso, de consequências imprevisíveis. Mas, certamente, num dia que começara tão propício não ia ter este azar. Instalou-se, deu a direcção e o rickshaw arrancou em passo célere. Gostou da velocidade e admirou o progresso.
Como não podia deixar de ser, encontrou caras conhecidas a atravessar a Praia Grande. O fato de flanela, a perna cruzada, como um verdadeiro senhor, chamavam a atenção. Alguns não o reconheceram, outros estenderam o pescoço para se certificarem melhor. À noite já se falaria na radical mudança de Chico-Pé-Fêde. Havia da parte dele um certo acanhamento, mas, no fundo, gozava. Por essa é que ninguém esperava.
Na porta do escritório do Dr. Tovar perdeu algo da segurança. Tinha a carta de Victorina no bolso, mas como recebê-lo-ia o causídico? Com um pé atrás, certamente, lembrado do seu passado de valdevinos e de maltrapilho. Respirou fundo e subiu as escadas largas para o primeiro andar da vasta casa assobradada, com o rés-do-chão desaproveitado e imerso em silêncio e meia penumbra. Com a mão molhada de tensão, abriu a porta e entrou no escritório propriamente dito.
Era um aposento enorme, dividido em sala de espera para os clientes e secretaria para os empregados. Cheirava a charuto, a cigarro e a papelada velha. Alguns clientes, todos chineses, aguardavam, plantados em cadeiras pesadas de pau-preto que tinham uma cor cansada. O pessoal escondia-se atrás de secretárias, que eram cinco, carregadas de documentos vários, uma vazia de gente. Havia o inevitável letrado, dois escriturários que se afadigavam em rabiscar papel selado e, na secretária maior, um indivíduo anafado, descuidado na apresentação, que falava com um chinês, talvez cliente. O sai kó dos recados, sem direito a secretária, abanava-se indolentemente, à espera de serviço.
O «bom-dia» de Chico soou forte, interrompendo as conversas. O homem anafado, certamente o chefe do pessoal, ergueu a cabeça e levantou-se pressuroso, acertando os óculos na cânula do nariz. Deu uns passos e depois parou estupefacto. Acabava de reconhecer Chico. Este também teve a desagradável impressão de reconhecê-lo na pessoa dum parente dos Saturninos.
- Que é que quer? O Sr. Doutor está muito ocupado.
- Venho com o recado duma pessoa. O Sr. Doutor já sabe. Basta dizer-lhe o meu nome.
- Não me disse nada, não tenho conhecimento.
- Pedia ao Sr. Chencho que lhe dissesse que estou aqui.
- Ele agora está com um cliente, uma pessoa importante. Espere. O meu nome é Alexandre. Chencho é só para os amigos.
Voltou-lhe as costas e berrou para o sai kó, em chinês:
- Abre mais as janelas. Há um cheiro aqui...
Chico fez-se estúpido. Antes de conseguir o emprego estabelecera-se a guerra entre eles. Não desistiu, curtindo o primeiro ódio do dia. Viu o sai kó escancarar o máximo as janelas e procurar, atónito, o hipotético cheiro. Chencho, regressado à secretária, recomeçou a conversa interrompida, como se ele não existisse. E os ponteiros do relógio rolaram.
A porta do gabinete abriu-se e saiu um cliente português, despedindo-se para dentro. Chencho não se moveu da cadeira. Despachou quem conversava, para receber outro. Aparentemente, os chineses que ali estavam não tinham que falar com o advogado. Um sino repercutiu e Chencho, saltitando, entrou no gabinete. Demorou-se alguns minutos. Quando saiu, dirigiu-se para a sua secretária, retomando o palreio interrompido, sem esboçar qualquer sinal a Chico. Não prevenira o seu patrão da visita.
Ferveu o sangue de Chico. Dominando a voz, perguntou se ele tinha dito alguma coisa a seu respeito. O outro respondeu que aguardasse.
- Você não disse nada ao Sr. Doutor. Ora, eu tenho uma carta para lhe entregar. O Sr. Doutor vai ficar muito aborrecido se souber que você não permitiu que eu transmitisse o recado. Veja lá o que faz.
Tremeu o anafado empregado, ao acenar do envelope na mão de Chico. O fato de flanela e o ar lavado ainda não serviam de boas credenciais, mas uma carta era outra coisa.
- Por que você não disse mais cedo. Dê-ma. Eu levo para o Sr. Doutor.
- É para entregar em mão própria.
Rebolando as suas carnes, Chencho desapareceu para regressar imediatamente, com um gesto de que tinha o caminho livre. Chico esqueceu o empregado para se concentrar no patrão. A sorte parecia ter-se virado desde que entrara naquele escritório, mas ainda havia esperança de o grande advogado acolhê-lo com benevolência.
O gabinete tinha alcatifa nova e das estantes ainda vinha um leve cheiro de verniz. Carregadas de jurisprudência e imensa sabedoria, as fileiras de livros impressionavam.
Chico sentiu-se quase perdido, pungindo-se do embaraço visível. Sobretudo quando o Dr. Tovar cravara uns olhos sisudos nele, estudando-o e examinando-o. Ah, se Victorina estivesse presente, como tudo seria mais fácil.
Depois dos cumprimentos houve uma pausa aflitiva, o advogado sem se mover, escanchado na sua cadeira forrada de bom couro.
Assumira um carão severo, de quem não gosta de sorrir, nem de brincadeiras ou familiaridades. Chico, com a carta na mão, procurava a palavra adequada para começar. Mas foi o outro quem iniciou a conversa.
- Então você é a pessoa recomendada por D. Victorina Vidal.
- Sou. D. Victorina disse-me que já tinha falado com o Sr. Doutor. Esta carta explicará melhor a minha pretensão.
Estendeu o envelope. O causídico rasgou-o com delongas e leu lentamente a missiva. Fazia teatro, saboreando o prazer sádico de impor ao rapaz o respeito. Quando acabou, continuou na mesma posição, como quem medita. Chico, enervado, tossiu.
Dando um estalido nos lábios, o advogado sorveu uma forte pitada de rapé, assoando-se depois com estrondo. A voz estentorosa, tão conhecida nos tribunais em longas alegações, disse:
- D. Victorina é uma pessoa por quem tenho a maior consideração. Recomenda-o com palavras bonitas e floreadas. Ora, o que sei de você é que não o abona em nada. Não estará a abusar da confiança dela? Sei tudo o que se passa...
- Um homem pode mudar. O Sr. Doutor, que defende tantos que andaram mal, acredita certamente que eles se podem modificar. Tenho também a maior consideração por D. Victorina. Salvou-me a vida. Foi a única pessoa que se mostrou caritativa para mim, na minha desgraça. Jurei a ela que iria entrar no bom caminho. D. Victorina disse-me que o Sr. Doutor precisava dum copista. Eu creio que posso ficar com o lugar. Tenho uma boa letra.
Falava com sinceridade. Não era o palavroso doutros tempos. Não se mostrava untuoso a pedinchar a vaga. Dizia tudo num tom de quem se achava competente para o mesmo. O Dr. Tovar, repoltreado na cadeira, mediu-o mais profundamente. Extraiu da caixa um charuto, embrulhado em lenço muito fino e muito branco, esparzindo o odor de lavanda. O aroma trouxe a Chico a saudade de Victorina.
Dr. Tovar não lhe ofereceu a caixa. Picou o charuto e acendeu-o, o pau de fósforo voou para o cinzeiro, ao mesmo tempo que o fumo se evolava para o ar. Não se mostrava muito convencido, mas gostara da atitude directa do rapaz. Custava-lhe crer que essa criatura fosse o desvario da Victorina.
- Sabe... Não gosto de que me acusem de não dar oportunidade a quem se propõe trilhar um caminho recto. E não desejo desagradar a D. Victorina, que muito estimo. Vou experimentar as suas qualidades e, conforme me prove, direi se aceito ou não tornar-se meu empregado.
- Desejo trabalhar e serei honesto. Prometi à D. Victorina. Aprecie a minha caligrafia, Sr. Doutor.
Não utilizava um tom implorativo, para comover. Adivinhava-se a certeza de que bem cumpriria. Dr. Tovar começou a simpatizar com ele, mal-grado a austeridade que apresentava.
- Bom, sente-se ali, no canto. Tem caneta, aparo, tinta e papel branco. E copie-me esta minuta.
Instalou-se com desembaraço. Lá de caligrafia percebia ele, estava como o peixe na água. Escolheu o papel almaço, passou em revista as canetas e aparos, escolhendo uma de cada, e depois de minucioso exame, abriu o tinteiro. Suava, pois do seu canto não apanhava a aragem da baía. Um tanto inclinado para a frente, atento, a ponta da língua entre os dentes, lançou-se ao trabalho. Começou a rabiscar em silêncio, absorvido na função da qual ia depender a sua estabilidade, alheando-se do próprio advogado, que tocava o sino a chamar o Chencho e um novo cliente.
O secretário dardejou um olhar furtivo para Chico, curioso por saber o que este fazia. Como o Dr. Tovar não soubesse chinês, ele servia de intérprete. Mas não traduziu a contento, porque se distraía, a ponto de o advogado se impacientar. Quando a consulta terminou, o Dr. Tovar despachou-o para fora, sem tugir nem mugir quanto a Chico.
Este nem sequer notara esses pormenores. Escrevia pausadamente e a sua letra, muito linda e certa, como se desenhada, surgia azul, sobressaindo do branco do papel. Sem o avaliar, fazia uma pequena obra de arte em caligrafia.
Vinte minutos depois depositava nas mãos do futuro patrão a sua peça artística, sem uma rasura nem uma letra comida. Tovar soltou grunhidos indecifráveis, sugando o charuto com gosto. Estava satisfeito e perdoara-lhe o atraso da hora do almoço.
Chico aguardou pela decisão, que só podia ser uma. O advogado, em vez de pronunciá-la, disparou:
- Como vai a Sr.a D. Victorina?
- Quando a deixei esta manhã, estava de perfeita saúde.
- É uma senhora respeitável, de grande coração, sempre pronta para acreditar nas boas intenções dos outros... Ficaria zangadíssimo se alguém lhe fizesse mal.
- Então, é dos meus, Sr. Doutor. Eu ia mais longe. Mataria esse alguém.
Pela primeira vez, Dr. Tovar sorriu. O carão duro desapareceu, para se transformar numa fisionomia bondosa e acessível. Esvaiu-se a tensão de Chico. Viu que gostaria de indagar mais, mas continha-se por ser um homem educado. , - Onde mora?
- Na Pensão Aurora.
- Conheço o local. Ali junta-se muita rapaziada estróina e de noitadas.
- No botequim e no bilhar. Mas a pensão, em si, é muito respeitável.
- É também um refúgio de republicanos.
Não sabia bem o que isto significava. Tinha uma vaga ideia de que eram aqueles que falavam mal do Rei. Assim o disse. De política não entendia nada. No passado só lhe interessavam cama e roupa lavada, bons pitéus e boas mulheres, a boémia e o Carnaval, a boa anedota e a palhaçada. Nos anos de miséria não podia preocupar-se senão com a sua própria sobrevivência. A política e a politiquice eram para os doutores e homens letrados, com estudos. A sua cultura não chegava até ali e nem se ralava. O seu mundo era Macau, e os ecos de Portugal apareciam diluídos pela distância e pela demora.
Tovar ergueu-se, uma das mãos atascada ao charuto em riste, a outra a brincar com o molho de chaves. Avançou o ventre bojudo, cheio de respeitabilidade, para junto da janela, debruçada para a paisagem da rua e da baía. Em baixo, as cadeirinhas movimentavam-se nos pachos de sol e sombra, cruzando com os rickshaws rivais. Juncos e lorchas dormitavam, por entre chispas de água plácida. De cócoras, na muralha de granito, sob a sombra das árvores rumorejantes, uma penteadeira untava de óleo de madeira a trança grossa duma jovem marítima, depois de cortar, a fio de linha, a penugem do cabelo no alto da testa, que não obedecia à lisura do penteado, uma operação dolorosa a que se submetiam, sem murmúrios, as beldades do povo. Perto, o vendedor ambulante de acepipes apregoava as excelências dos seus produtos avinagrados, enquanto, mais além, o homem dos «tintins» batia os ferritos e o amolador de facas esfalfava-se, no seu aparelho primitivo, a polir um parão de cozinha.
- Gostei da sua letra. Trabalho muito asseadinho. Dou-lhe o lugar de copista, mas exijo dedicação e pontualidade, disciplina e responsabilidade. Tem por colega o Anísio, bom rapaz, mas muito nervoso. Erra muito, estraga imenso papel. O outro é o Aleixo. Acate as ordens do Sr. Alexandre, que é o chefe do pessoal. Há aqui muito que fazer. Porque, além de advogado, sou tabelião. Falarei ao Sr. Alexandre sobre a sua secretária. Pode começar mesmo esta tarde. Tenho uns requerimentos para entrar no tribunal.
Disse o salário, as condições e as horas de serviço. Chico concordou com tudo. Embora avaliasse que a carta de Victorina muito o ajudara, considerou a aceitação como uma vitória pessoal.
Chencho, convocado, ouviu, pasmado, a notícia. Pensara que Chico viera para esmolar. Mostrava-se agora ofendido por não ter sabido de antemão o fim da visita. Ainda se atrasou, para catequizar o patrão contra os inconvenientes de semelhante empregado. Gorado o intento, resmungou com rancor, ao passar por Chico:
- Trabalhou nas minhas costas.
Fez-se surdo, sentia-se bem apoiado. Chencho iria criar-lhe dificuldades, mas acabaria por resignar-se ao facto consumado. O mais importante é que tinha emprego.
Nessa e noutras noites que se seguiram compreendeu que jamais poderia retroceder para a vida boémia e estouvada de outrora. Já não era o mesmo. A pândega e a farra já não tinham cabimento, depois do calvário sofrido e a redenção que encontrara por milagre. Alanceavam-no as saudades de Victorina. Era magra, zarolha, mais alta que ele, trintona, mas que peso tinha tudo isto, se era com ela que queria viver, e não com qualquer outra? O único óbice que se erguia diante dele para concretizar o seu maior desejo era não possuir nada para lhe oferecer em troca. Com o sentido da honra restaurado, jurara não se apresentar diante dela sem uma situação definitiva que lhe provasse não ser apenas o dinheiro aquilo que o atraía nela. E desesperava, vendo gastarem-se os dias sem uma solução.
Três semanas decorridas fervia de indignação. Os frequentadores do restaurante e do botequim da pensão não lhe davam tréguas, importunavam-no a todo o instante. Na rua era motivo de curiosidade e, atrás das costas, gritavam a alcunha insultante. Simplesmente, ninguém parecia convencido da sua regeneração. Intrujara uma solteirona, aguardava-se dali uma partidinha escabrosa e o retorno ao velho palhaço das orgias e anedotas, já que voltara a nadar em fortuna. Os fatos e os sapatos e o relógio de Hipólito Vidal não lhe conferiam o respeito dos outros. Era ainda o Chico-Pé-Fêde. Não lhe diziam na cara, mas estava sujeito à chacota e à familiaridade, que o humilhavam. Daí o medir constantemente quanto descera no conceito público com a sua conduta e loucuras do passado.
Resolvera manter uma atitude conciliadora. Impusera-se a si mesmo a disciplina de não questionar, preferia entregar-se, de alma e coração, ao seu emprego de copista, que zelava primorosamente, levando trabalho para o serão. Havia perguntas que o enraiveciam, insinuações ofensivas que fingia não perceber. Sorria e encaixava tudo, ansioso para evitar «escândalo».
Recolhia-se depois do jantar para o seu quarto, não se demorando no café, recusando convites para a aguardente, para a cerveja, para o bilhar ou para a «bisca». Tinha de suportar os teimosos, que persistiam em arrastá-lo, não reconciliados com a sua metamorfose. Quando afirmava que se retirava para ler ou trabalhar ou para escrever, rebentava uma gargalhada geral. O desaparecimento dum bobo, à custa de quem o vulgo tanto se divertira a bandeiras despregadas, era inadmissível.
No quarto, sob o espinho da solidão, preparava bilhetes para Victorina, redigidos laboriosamente, com muitos erros de ortografia e pontapés na gramática, bilhetes que não o consolavam, pela incapacidade de dizer tudo, mas que, com rigorosa pontualidade, estavam no Lilau, para onde ela se mudara, para demonstrar que não a esquecera.
Três semanas bastaram para concluir que o procedimento de «encaixa-tudo» não levava a resultado algum. Não punha cobro às zombarias, não alcançava o respeito que julgava ser-lhe devido. Sempre fora um homem pacífico, só se engalfinhara à sopapada, em menino, na escola. Até nem replicara, uma vez sequer, às pancadas que suportara passivamente de A-Tai, a vendilhã de dentes de ouro. Mas tudo isto também pertencia ao passado. Se queria andar de espinha dorsal direita e acabar com os abusos, o único caminho era o da violência. Para que não o classificassem de cobarde. Para certa gente não havia outra linguagem possível.
Dois indivíduos tornaram-se símbolos desta categoria. Primeiro, o Chencho, segundo, o Silvério, para quem outrora fora tão pródigo e generoso na boémia, um parasita que se esquecera e escarnecera dele nas horas negras de Chico-Pé-Fêde, tratando-o com desprezo e inqualificável ingradidão, e que agora não se detinha na insolência e grosseria.
Esforçara-se para agradar a Chencho. No escritório havia lugar para os dois, os interesses e as tarefas não colidiam. Mas Chencho tomara-o de ponta, provocava-o, azedando-lhe a disposição, com intuito de levá-lo a desistir do emprego. Mal chegava, ordenava que abrissem as janelas, dizendo haver um cheiro horrível na sala. Criava mau ambiente entre o copista e outros empregados. Implicava com tudo que Chico fazia e apontava defeitos onde não existiam. Com os corretores de negócio e com os clientes, chamava-os para conciliábulos, a meia voz, em que denegria Chico. Pela maneira como eles o miravam depois, não podia haver dúvida no veneno lançado.
À medida que os dias se desenrolavam, as impertinências aumentaram. Frases irónicas, impertinências irrazoáveis, soavam a cada passo. Um dia em que Chico lhe roçou, por acaso, pela manga, rebentou num escarcéu a dizer que o empurrara. Andava à volta do patrão com intriguinhas e queixinhas, mas este respondia-lhe:
- Deixe-o lá, Sr. Alexandre. Você está a exagerar. Meta-se no seu trabalho, que já tem muito, e não se rale. Isto até parece birra. O Frontaria vai cumprindo. Nunca tive alguém que me escrevesse as letras com tanto talento. Compare-o com o Anísio e o Aleixo. Você há-de concordar que também não têm a letra dele e desde que cá apareceu você ficou muito mais aliviado.
Tornava-se lívido com tal resposta. Em vez de acalmar e desistir, engendrava outras «malandrices». A taça transbordou quando, ao aparecer no escritório, Chencho e outros empregados, com excepção de Anísio, mortificado, tiraram do bolso o lenço, para taparem o nariz, como se na sala pairasse um cheiro nauseabundo. Odiou Chencho, as suas carnes anafadas, a boca enegrecida de tabaco e dentes podres, o seu mau hálito, que se colava à pituitária das pessoas.
Não era leal ao patrão, descobrira. Sobre os honorários deste cobrava com desplante uns extras dos clientes, alegando mil razões. Embolsava o dinheiro do «chá» ou das gorjetas que estes distribuíam aos empregados, como era o inveterado costume chinês. O atrevimento raiava pelo descaramento. Todos o temiam, porque o julgavam da confiança absoluta do Dr. Tovar, e não reclamavam abertamente. Anísio, fraco e medroso, era o bode expiatório das suas cóleras, que agora pretendia transferir para Chico.
Marcou o dia do desforço. Repugnava a violência, mas tinha de ser, não podia adiar mais. Chencho ultrapassara os limites do razoável. Suava descomunalmente desde que acordara. Almoçara mal, facto que o irritava mais ainda. A tarde correu vagarosa, enervante. Nem por isso deixou de compor o traslado duma escritura com arte e asseio, cerrando os ouvidos às insolências, cheias de suficiência, de Chencho, acumulando o temporal nas entranhas.
Nisto, entrou um casal chinês, ele já idoso, ela muito jovem, esbelta e grácil na sua verde cabaia florida, enjoalhada no penteado, nos dedos e nos pulsos. Um casal rico que vinha «consultar» Chencho acerca da aquisição dum prédio que o velho desejava comprar em nome da moça. Acompanhava-os a criada, que trazia nos braços uma criança dum ano. A cor do pano que a revestia e o capuz na cabecita indicavam ser um menino.
Não atentou neles, obcecado com o modelar das letras no papel selado. Quando faltavam umas dez linhas para a conclusão, ergueu a cabeça, atraído pelo breve vagido infantil. Foi um instante, mas tempo bastante para observar melhor o grupo.
Reconheceu-os, como também certamente foi reconhecido. Ele era o Lam Sang, o comerciante de vinhos chineses, e ela a rapariguita da ilha Verde, a A-Sao, cujo corpo e destino negociara. O homem continuava mais ou menos na mesma, mas ela surpreendeu-o. Já não era a criaturinha suja e chorosa, resignada na sua desgraça. Pelo contrário, muito sedutora e limpa, toda porcelana fina e ar altaneiro, parecia uma filha-família, nascida num berço de jade. Lam Sang, ao deparar com ele, mostrou-se algo desconfortável, mas não se dignou cumprimentá-lo. Ela, rosto impenetrável, nem sequer pestanejou. Riscara-o definitivamente.
Rugiu, em silêncio, a ingratidão. De qualquer maneira, o seu plano surtira efeito. O homem tinha um varão para continuar a família. E, quanto a ela, tirara-a da miséria, abrira-lhe um futuro com que jamais sonharia na lama e promiscuidade da ilha Verde. Já não era um objecto de divertimento dum velho crápula, mas, sim, a concubina, a terceira, pelos vistos, pois Chencho a tratava por Sr.a Lam. E ia-lhe comprar um prédio! Ela devia ter virado do avesso o coração do negociante de vinhos! Com aquela voz juvenil, mas já autoritária, devia mandar no velho, como um joguete nas suas débeis mãos. E a autoridade vinha toda de lhe ter dado o herdeiro almejado.
Untuoso, Chencho satisfazia todas as perguntas que ela fazia. E devia ter murmurado contra Chico, pois, quando se levantaram, sem ver o advogado, Lam Sang lançou-lhe um olhar mau e a moça deixou pender o beiço desdenhoso. E desapareceram, ficando o copista a chocar maior indignação.
À hora do fecho do escritório, os empregados desceram, um a um, para a rua. Chico seguiu-os, mas ocultou-se no muro de granito, atrás do tronco duma bojuda árvore de pagode. Do sítio podia avistar quem saía ou entrava na porta do edifício. Sabia que Chencho se deixava ficar para trás, demorando-se pelo menos meia hora, e era ele quem encerrava o escritório, dispensando o sai kó.
Mordiscou as unhas de impaciência, limpando o suor. O Dr. Tovar tomou o rickshaw e partiu. Logo a seguir, surgiu o sai kó, assobiando como um rufia, para sumir-se entre as arcadas. Aguardou ainda uns dez minutos, não fosse aparecer um «cliente» de Chencho, à socapa do patrão. Então, atravessou a rua, trancou por dentro a porta do rés-do-chão. Subiu em silêncio, com as cautelas dum ratoneiro. No topo da escada verificou, aliviado, que a porta para a sala do expediente se achava entreaberta. Não teria de bater, alarmando Chencho. Como procedera em baixo, fechou a porta atrás de si, correu o trinco. Chencho remexia em papéis, absorvido, de costas. O estalido do soalho alertou-o. Encarou o rapaz com surpresa e, todo desabrido, inquiriu:
- Que vem cá fazer? Anda-me a pregar sustos?
Engoliu em seco quando o outro avançou, punhos apertados, boca crispada, um touro furioso a investir. Recuou dum salto.
- O que foi? O que foi?
Chico deitou-lhe a mão à aba do casaco e puxou-o para si. Ouviu o rasgar do pano e apanhou pela frente o hálito medonho. Não obstante o nojo, as caras ficaram quase unidas.
- Voltei para pôr tudo em pratos limpos.
- Não percebo...
- Percebe. Estamos sozinhos para conversar. - Calma... calma...
- Calma, nada, seu filho...
- Larga-me ou grito...
- Experimente. Esmago um murro nos queixos. Rebento esta suja dentuça - replicou, mostrando o punho minaz, à altura do nariz.
Esvaziara-se toda a empáfia de Chencho, como um saco vazio, os olhos arrancados de pavor. Como da boca persistisse o hálito que entontecia, Chico empurrou-o, com um safanão, de encontro à parede.
- Oh, minha santa mãe! Misericórdia...
Não o deixou escorregar. Segurou-o pelos ombros e chocalhou-o. As banhas, esmagando-se na superfície da parede, produziam um som singular. Chencho, com a cabeça a bambolear para a frente e para trás, começou a chorar. Parou. Não valia a pena dar-lhe o soco. O corpo gordo resvalou para o chão, nojentamente.
- Você vai deixar de me chatear. Não é meu patrão nem me paga. Meu patrão é o doutor. Não me meto na sua vida nem você tem de se meter na minha... Já não tenho paciência para mais. Rouba o patrão pelas costas, abusa da sua confiança. E rouba-nos também no «chá». Se continuar a aborrecer-me e a rebaixar-me, apanha uma sova mestra. Não ficará um osso inteirinho. Racho-o de cima para baixo. Posso ir para a cadeia, sou solteiro, mas você ficará na cama, como um inválido, para o resto da sua vida. Percebeu? Ora diga que percebeu...
Foi com a ponta do sapato que lhe extraiu a resposta. Sim, percebia. O desgraçado arfava, gemia, choramingava, vendo à frente a morte.
- Isto fica entre nós, sem testemunhas. Poupo a você desta vez. Mas, se se atrever a repetir as sacanices, será mesmo diante de todos. E você não se levantará mais da cama, isto garanto, seu poste de merda. Amanhã e para sempre, direitinho. Cada qual no seu lugar. E contas do «chá» claras. Não ronde mais à minha volta, com os seus dentes podres, a sujar de saliva os meus papéis. Mantenha sempre as janelas abertas. O único cheiro que aqui existe é o da sua boca.
O outro, no chão, não tugia nem mugia. O seu reinado desfizera-se com a fragilidade dum castelo de cartas. Tremendo, a cabeça abrigada entre os braços, concordava, meneando-se, sem dignidade. Um líquido molhava o chão, mesmo debaixo das nádegas. Fora uma vitória mais fácil do que julgara. Não desejando terminar depressa, Chico acrescentou, com maldade:
- Sabe o que o meu trisavô e bisavô faziam aos piratas? Esfolavam-nos vivos e comiam a pele com ovos estrelados. Ou então aproveitavam a banha da gordura deles para assar chouriços. Eu também posso experimentar. Sou um Frontaria quando me zango. Tenho um parão em casa, tão afiado que corta dum golpe a vela, em dois bocados, sem ela cair.
Era uma bravata sem pés nem cabeça, mas surtiu efeito. Chencho gemeu mais alto, imaginando o parão a desmembrá-lo, à imitação da vela. Recolheu as pernas bambas, por instinto, tornando-se numa bola. Chico hesitou se devia rematar com um pontapé, mas conteve-se. A lição fora dada, o homem acreditara que ele era capaz de traduzir em palavras, em realidade.
- Então... adeus. Não roube tanto o patrão. Se eu der à língua, você vai imediatamente para a rua. E nem mais um berro ao Anísio e aos outros.
Em baixo, caminhando nas arcadas da Praia Grande, já não teve acanhamento de se mostrar. Ganhara um ponto. Pisava bem o chão, eufórico, com vontade de gargalhar e de gritar que era um homem.
Só faltava ainda arrumar com o Silvério. Mas, quanto a este, seria à frente de toda a gente. Não seria mister tão fácil, pois Silvério gozava fama de conflituoso e provocante, conhecido por socar bem. Mas, se queria completar-se como homem, não teria outro caminho.
Essa noite era a terceira que aguardava pela vinda do Silvério. Em vez de meter-se no quarto, a curtir saudades, como era seu costume, deixou-se ficar, depois do jantar, na conversa.
O seu companheiro de mesa era um tal Zé Trigo, capataz na futura companhia concessionária que ia montar a electricidade em Macau, natural de Lisboa, que chegara seis meses atrás, não se sabendo bem se deportado ou refugiado político. De motu próprio, logo na primeira refeição que Chico tomou no restaurante da pensão, se apresentara como comensal, pedindo licença para compartilhar da mesma mesa, pois não gostava de comer sozinho. Como encontrara emprego numa companhia que se formava, ninguém elucidava, senão que tinha fortes influências a protegerem-no.
Era um homem entroncado, descomunal de altura, com forte bigodeira ruiva e patilhas de bandarilheiro. Gesticulava muito, autêntico meridional que era, falava com saudades da terra natal, mas também suficientemente generoso para dizer que nunca vivera melhor que em Macau.
Reservado, a princípio, Chico acedeu à proposta. Imediatamente, nasceram boas relações. Ambos tinham um feitio alegre, mimoseavam-se com histórias e anedotas que dispunham bem. O único defeito que achava no novo amigo é que gostava da política. Era republicano, dizia podres da Monarquia e sonhava com um Portugal redimido e próspero, na vanguarda do Progresso, quando fosse varrida a «súcia dos Braganças». A ele se juntava João Tomé Zacarias, o dono da pensão, que bebia das mesmas águas. Vinham outros e a mesa tornava-se um comício republicano. Era nessa altura, já terminado o jantar, que Chico se levantava para se recolher. Não sabia discutir com eles, era um assunto fora do seu interesse directo. No entanto, não gostava de ouvir aquelas enormidades. Criara-se na tradição do respeito ao Rei, ensinada pela Títi Bita e pelo Tio Timóteo. Retorquir-lhes, porém, sem conhecimento de causa, era mostrar-se ignorante.
Fora disso, Zé Trigo era um compincha. Tinha Chico na conta dum rapaz bonacheirão, amigo da gargalhada e da natureza cordata. Franzia a testa quando escutava a chacota atingindo o companheiro de mesa, sem que este reagisse, aturando impertinências. Uma vez, não suportando a aparente bonomia do amigo, perguntou-lhe:
- Você não põe cobro a isto?
- Deixe-os lá. São brincadeiras.
Na noite em que esperou Silvério pela primeira vez dirigiu-se ao botequim. Foi acolhido em altos berros. Afinal voltara ao aprisco. Mas enganaram-se quanto à sua liberalidade. Chico não abriu os cordões à bolsa e só bebeu uma cerveja, sem pagar a ninguém. Foi alvo de zombarias, mas aguentou impávido. Retirou-se uma hora depois, quando concedeu que Silvério não apareceria. Na segunda noite aconteceu o mesmo.
Na terceira noite tinha a certeza que ele surgiria. Jantou sem grande apetite, embora a comida estivesse suculenta. Obcecara-se com Silvério. Lembrava-se, em pormenor, das pândegas e do dinheiro dissipado, a sustentá-lo e aos outros do grupo, e envergonhava-se. Fora daqueles que mais o tinham calcado na hora da desgraça, com remoques insultantes e atitudes de desprezo. Fora daqueles que lhe chamaram na cara Chico-Pé-Fêde. Fora daqueles que mais lhe tinham comido a herança da Títi Bita. Era o exemplo vivo do ingrato.
Nessa noite, fazendo horas para ir ao botequim, acumulava uma raiva que suplantava aquela que o impelira a pôr nos eixos Chencho. Este estava já arrumado, pois não voltara a pisar o escritório, alegando doença. Derramado na cama, curtia um medo desgraçado.
Repetindo o café e sorvendo-o aos golinhos, ficou a ouvir a mesma lengalenga panegírica a futurar a almejada República. Quando se apercebeu de que, do lado, os bilhares e o botequim se enchiam de fregueses, resolveu mudar-se para ali. O desforço tinha de ser em frente de toda a gente.
Zé Trigo acompanhou-o. Era perdido pelo bilhar e ia apostar. Uma vista de olhos e o Silvério ainda não aparecera. O som dos tacos e das bolas rolando casava-se com o vozeirame e as gargalhadas dos frequentadores. Zacarias e a criadagem não tinham mãos a medir. Junto ao balcão do bar bebia-se a cerveja ou o «cheirinho». Nos cantos jogava-se aos dados, com exclamações exultantes ou pragas.
Foi como se tivesse visto o ambiente pela primeira vez depois dum interregno de anos. O que não surpreendera nas noites anteriores apanhava agora. Nada mudara, as mesas, os bilhares, o bar, a gente, o cheiro acre de fumo, as emanações de fritos. Ali reinara como folião dos foliões. Dirigiu-se à mesma mesa, junto à janela, onde havia um lugar, como noutros tempos. Pediu uma cerveja gelada, cruzou a perna e não despegou os olhos da porta. Cada vez que alguém entrava, o coração batia-lhe apressado.
De repente, a actividade do botequim foi interrompida pelo palreio fanfarrão do Silvério. Ali estava ele com três amigos, todos muito vermelhos, vindos certamente dum jantar em qualquer cou-lau do Bazar. Chico não teve a mínima dúvida de que o provocaria antes que tomasse a iniciativa.
As feições regulares, marcadas de olheiras e rugas, eram bem o retrato duma vida de excessos e devassidão. Vinha bebido e, portanto, conflituoso e insolente. As pessoas pacíficas evitavam-no, neste estado, porque não queriam aborrecimentos. Ciente da impressão que causava, parecia um rei, em terreno conquistado, no meio de vassalos. Os que o ladeavam clamaram por uma mesa. Um deles, o Totó, pequenino e sebento, em quem Chico se revia, como se fosse a imagem renascida do que ele próprio fora, era o mais esganiçado. Pronto para todos os recados, serviçal e bajulador, encostava-se sempre aos fortes ou aos mais fortes. Quando topou com Chico, ciciou imediatamente ao ouvido de Silvério da sua presença no botequim.
Silvério adorava ser o centro das atenções, principalmente quando já não tinha outro rival. Escolhia sempre alguém, quando bêbedo, para moer e troçar, como divertimento da noite. Focou a atenção em Chico e teve uma risada arruaceira.
- Olhem, quem vejo aqui! Chico-Pé-Fêde, sentado como um pimpão! Sr. Zacarias, já lhe perguntou se tem dinheiro para pagar?
Zacarias, que servia no balcão, deixou transbordar a cerveja num copo, com um esgar de contrariedade. Quedou-se, porém, preferindo uma atitude neutra. Zé Trigo, de longe, no bilhar, aprumou-se, com o taco na mão, fixando os olhos em Chico. Silvério, passos incertos, aproximou-se deste, gingando o corpo, o mesmo sorriso malévolo no rosto devastado. Totó saltitava dum lado para o outro, radiante do efeito. Na sala pairou um silêncio, os bilhares calaram-se, todas as orelhas arrebitadas, à escuta. Chegara o momento.
- É comigo que está falar? O meu nome é Francisco da Mota Frontaria.
- Ui! Ele agora é Francisco da Mota Frontaria! Que luxo! Roupa e camisa novas. E até sapatos! Frontaria, um corno! Para mim há-de ser sempre Chico-Pé-Fêde. Sr. Zacarias, mande correr os pancares. Precisamos de ar. Não cheira a podre?
Chico ergueu-se, muito pálido. Havia testemunhas, não iniciara conflito nenhum. Agora, ou ia para a frente ou afundar-se-ia no estigma da cobardia, a juntar-se ao rol das antigas misérias.
Zacarias saíra de trás do balcão e acercara-se dos dois. Estava danado com Silvério, que lhe estragava o negócio. Há muito que desejava expulsá-lo, mas até então não encontrara motivo de peso para tão drástica decisão.
Alguém gritou, protestando:
- Não cheteie ele. Não fez mal ninguém. Chico, ainda controlando-se, disse a Zacarias:
- Vim aqui beber uma cerveja. Este sujeito insultou-me. Não gosto de questões. Se pedir desculpa, tudo acaba em nada.
Silvério arregalou os olhos. Não estava afeito que alguém o desafiasse, muito menos se este desafio partia de Chico-Pé-Fêde, humilde e pedinchão na desgraça. Exigir desculpas? Que ousadia! Esfregou o nariz bem feito e colocou as mãos nas ancas.
- Olhem para ele. Julga-se agora gente. Ora diga, donde vem esta coragem? Ah, já sei... É do dinheiro, roendo um varapau de ossos.
Chico saltou e uma bofetada vibrante estalou, em cheio, na face esquerda de Silvério. Este desequilibrou-se, sendo amparado pelo Totó, que, até então, mais se encarniçava em incitá-lo.
- Seu filho da mãe...
Cerrou os punhos, transtornado, a face vermelha a inchar com as marcas dos dedos. Zacarias pulou para o meio, braços abertos. Zé Trigo voara do seu lugar e outros presentes apartaram os contendores. Chico elevou a voz na confusão.
- Desculpe-me, Sr. Zacarias. Não fui eu o causador do desacato. Este rufia insultou-me a mim e alguém por quem tenho a maior veneração. O senhor tem um quintal ali atrás. Desafio este homem para a porrada. Senão, fico lá fora, na rua, à espera dele.
- É assim mesmo... Viva a República - bradou, com entusiasmo, Zé Trigo.
Uma voz gaguejante aventou chamar a polícia. Silvério desbocava palavrões, esperneando. Zacarias, com um urro dominador, disse:
- Se querem escaqueirar-se mutuamente, é no pátio. Fica tudo em família. Na rua, em frente da pensão, é mau para o meu negócio.
O repto estava lançado. Com animadora surpresa, Chico achou-se com partidários. Suspiravam por uma sova mestra no Silvério, pois a sua constante basófia e grosseria ultrapassavam os limites do razoável. A maioria permanecia neutral, duvidando das possibilidades de Chico vencer o adversário. Alguns mais prudentes preferiram retirar-se para não serem testemunhas amanhã. Totó pairava, dum lado para o outro, já hesitante.
Dirigiram-se todos de roldão para o pátio. Já ninguém pensava no bilhar, na cerveja e nos dados. Zacarias fechou o botequim. Silvério bramava como num ferrabrás. Zé Trigo, afagando os ombros de Chico com costadas, gritou:
- Viva a República! Abaixo os talassas! Alguém dos presentes replicou:
- Viva a Carta! Viva o Rei!
Um «chut» severo de Zacarias interrompeu aquelas extemporâneas manifestações políticas. Aquele era um «despique entre cavalheiros». A que propósito, então, essa berraria, se o motivo era outro?
O pátio era largo e estava escuro. Havia montes de caixotes pelos cantos, mas espaço suficiente para a luta. Acenderam-se lâmpadas de petróleo para melhor iluminação. O galo da capoeira, julgando ser madrugada prematura, crocitou, irritado. Para os supersticiosos, isto indicava azar para alguém.
Zacarias, encarando um e outro dos contendores, ditou:
- Antes de começarem, tenho regras a impor. O tempo do duelo já passou, mas houve provocação, insultos e bofetada. Ambos querem uma satisfação. O desafio é entre dois cavalheiros. Não há partidos, ninguém mais intervirá. Os espectadores que se contenham nos seus entusiasmos e façam o mínimo de algazarra. Quero tudo isto em família, sem intervenção da polícia. Agora, joguem e esmurrem-se à vontade.
Chico despiu o casaco e a gravata. Alguém pegou neles. Silvério fazia o mesmo, vociferando. Tinha os olhos injectados, a face cada vez mais inchada. Prometia reduzir a cacos o adversário, se desejava manter o prestígio. Sobretudo quando o outro era Chico-Pé-Fêde.
Este descobriu uma vantagem. Silvério estava toldado de cólera e sob os efeitos do álcool. Perigoso, mas imprudente. Por isso, arregaçou as mangas da camisa com mais confiança e pôs-se na posição clássica de boxeur. Silvério tinha os braços estendidos e um bocado afastados do corpo para envolvê-lo como tentáculos.
- Pronto, podem começar. Cuidado com aquele monte de caixas. Há muito vidro por ali.
- Porrada no gajo! - incitou uma voz, não se sabendo para quem.
Silvério não demorou mais. Inclinado para a frente, investiu como um tigre, sedento de sangue e raiva, desferindo socos no ar. Chico, saltitando com agilidade surpreendente, evitou os golpes suficientes para o derribarem. Os pés não se ressentiram, insuflando-lhe mais confiança. Ia recuando, os espectadores abriam alas, obedecendo a Zé Trigo, que se arvorara em juiz de linha.
Silvério interpretou o recuo de Chico como manifestação de medo. Tornou-se descuidado. O seu punho, finalmente, atingiu o adversário, que se desviou a tempo, mas o raspão produziu-lhe um lanho na face. Descobrira-se. Chico, em resposta, vibrou dois socos felizes, um no peito e outro no ombro, que soaram como tambores.
- Limpa no gajo!
O entusiasmo crescia. Nem todos os dias havia uma cena de pugilato de borla. Os socos pararam Silvério, mas recuperou-se. Esperava abraçar Chico e esmagá-lo com a tenaz dos seus braços. Não o conseguia, Chico esquivava-se e os murros trocavam-se sem consequências de maior.
Uma aberta imprudente e súbita de Silvério, deixando a cara exposta, permitiu um directo fortíssimo no queixo. Ouviu-se um estampido e logo um brado de excitação, enquanto o ferrabrás se desequilibrava, sem, no entanto, cair. Um fio de sangue deslizou do canto da boca.
- Cholê gajo!
A ira cegou Silvério. O choque abalara-lhe a inteligência, tudo dançava em volta. Vagamente sentia que já não tinha apoio de ninguém. Respirava arquejante, surpreso de que Chico ainda não estivesse estendido no chão, a pedir-lhe perdão e clemência. Conseguiu atingi-lo no estômago. Chico soltou um urro, dobrou-se, com uma náusea atroz, mas não caiu, aguentando-se nas pernas.
Silvério avançou para descarregar o golpe final. Estava com tal certeza que cometeu um erro. Expôs, de novo, o rosto, ao abrir os braços. Foi a sua perda. Chico, concentrando toda a força no seu braço direito, acutilou-o com um murro magistral na cara. O nariz, atingido, esparrinhou sangue. Projectado para trás, Silvério era uma árvore sacudida por um vendaval. Obriubilado pela pancada, uma névoa descendo na sua visão, já não sabia o que fazia. Chico aproveitou-se e contra-atacou com fúria. Os socos ecoavam cavos, sem que a assistência interferisse, por demasiado atónita.
Duvidou-se quem seria inevitavelmente o vencedor. Silvério, em frustra defensiva, recuava. A sua resposta era cada vez menos efectiva, o semblante numa bola ensanguentada, o contendor enlouquecido pela perspectiva da vitória e pelo rancor. A certa altura, os braços de Silvério como que se petrificaram. Estacou e, girando sobre si mesmo, desabou miseravelmente para o chão, no meio dos caixotes.
- Basta!... Basta! - e Zacarias saltou para o meio.
- Há uma coisa que ainda tenho a fazer.
Perante o espanto de todos, Chico descalçou os sapatos e as peúgas e chegou-se a Silvério, que meneava a cabeça, esvaído e tonto.
- Ora cheira... cheira, seu pulha. Já não estão podres... estão curados pela senhora que você insultou... Cheira.
Os dedos de pé mergulhavam no sangue esguichado das narinas do vencido.
- Deixa-me... deixa-me.
- Pede desculpas à senhora que ofendeste... Pede.
Na raiva, desferiu uns pontapés, repetindo «pede desculpa». Zacarias, secundado por outros, interpôs-se, puxando Chico para o lado.
- Acabou-se. Foi um jogo leal. Silvério, peça desculpa. Todos ouvimos insultar uma senhora. Senão, o amigo Frontaria continua.
Silvério lançou um olhar desesperado, à procura de apoio. Não encontrou simpatia, vozes até insistiam no pedido. Murmurou, então, abjectamente:
- Desculpa...
Chico ouviu bem. Tinha lanhos no rosto, marcas no corpo, as mãos inchavam, a planta dos pés ardia. Mas não se importava, eufórico. Mais ainda quando Silvério escondia o rosto na lama do pátio, humilhado. Disse alto:
- Tenho um nome. Chamo-me Francisco da Mota Frontaria e mais nada. E ninguém se atreva, na minha frente, à mais leve alusão desrespeitosa à senhora que mais prezo. Então será muito pior. Racho, tiro os fígados...
Era outra basófia, mas, no estado em que se encontrava, era bem capaz de pôr em prática a ameaça, sem medir as consequências. Mas ninguém pensava em tal. Nesse momento gozava da admiração dos presentes, porque derrubara um fanfarrão insolente.
Zacarias, afastando-o, disse:
- Bem, Sr. Frontaria, marcou o seu ponto e a festa terminou. Paguem todos a conta, que o botequim já fechou. Lembrem-se... Não quero a polícia.
Chico encaminhou-se para dentro, fortemente acompanhado, que eram quase todos, esquecido de que estava descalço. Totó segurava-lhe os sapatos, as peúgas, o casaco e a gravata. Zacarias, atrás, extravasou o seu desdém pelo derrotado:
- Vá tratar-se, que bem precisa. Não volte cá mais, proíbo-o. Já me tem estragado o negócio e hoje mais do que nunca. As suas baboseiras teriam um dia que sair mal.
Ao atravessarem o corredor para as escadas, Zé Trigo, contentíssimo por seu companheiro de mesa não ser, afinal, um cobarde, expandiu o seu entusiasmo. Berrou, cantando:
- Heróis do mar... nobre povo...
Era uma canção revolucionária, melodiada, em certos meios, com discrição. Agora era gritada a plenos pulmões por um coro que secundara Zé Trigo. Não tardou que o Hino da Carta se misturasse, numa balbúrdia alegre. Talvez fosse a única vez que os dois hinos se elevaram ao mesmo tempo, sem antagonismos, aquele que ia morrer dentro de alguns anos e o outro que o substituiria. Novo «chut» e protesto de Zacarias e calaram-se.
No quarto, invadido pelos novos amigos sem serem convidados, Chico escutou, espantado, as felicitações e demonstrações de afecto, como se jamais tivesse tido uma fase negra na vida. Falavam todos ao mesmo tempo, descrevendo a pugna, qual o murro que fora decisivo, e a estupidez de Silvério. Readquirira o prestígio e a consideração.
Totó, humilde e serviçal para o novo senhor, perguntou-lhe em que podia ser útil. Chico, esgotado, cerrara os olhos, mas abriu-os para fixar melhor a cara alvar do vira-casacas e amigo de todos os fortes ou dos mais fortes. Disse, secamente:
- Traz-me água quente para lavar os pés. E manda o Al-Seng aquecer dois baldes de água para o meu banho. Preciso de tirar a lama do meu corpo.
- Sim, Sr. Frontaria. Pronto... imediatamente.
Victorina regressara ao atelier depois dumas compras e quedava-se distraída com as horas de lazer, que se prolongavam. O negócio ia mal e o pouco que ainda tinha para completar anunciava que a crise se estenderia por tempo indefinido. A censura da sociedade mantinha-se em rigor, o ostracismo isolava-a. As suas empregadas tagarelavam no fundo da sala, num ócio estagnante, entre bocejos.
O dia acinzentara-se, com ameaços de chuva. O canário, que pela manhã desfiara um trilo mavioso, saltitava, emudecido, tentando bicar uma folha de planta ornamental por entre as grades da gaiola.
Faltavam poucos dias para perfazer um mês que Chico se separara dela. Durante todo esse tempo não o vira uma vez sequer. Dele, somente bilhetes, que diziam o mínimo e não chegavam para matar a sua saudade. O Dr. Tovar mostrara-se satisfeito com ele, mas a Pensão Aurora, onde morava, causava-lhe inquietações. O seu botequim era o pouso preferido dos boémios, daqueles que gostavam da pinga. Conhecia João Tomé Zacarias, a boa da mulher e a filha Jerusa, de catorze anos, muito linda. Tinha-os na conta de pessoas decentes. Mas os frequentadores do botequim eram de outra loiça. Havia sempre o risco de Chico retroceder para o passado.
Victorina não recuperara da separação. Sofrera. Chico devastara-lhe o coração. Entrara lá em casa, repelente, tresandando a podre, acolhido por um impulso de caridade. Não fora mais do que isso. Comovera-a, depois, a resignação dos seus padecimentos. Revia os olhos cheios de lágrimas, a gemer baixinho e envergonhado, a expressão patética e receosa de que o mandasse embora, a humildade e o esforço de apagar-se para ser o menos empecilho possível.
Quando se apercebera ela de que as relações entre ambos se tinham modificado? Talvez quando começara a encará-la como mulher de carne e osso, fitando-a com genuína gratidão, dum modo que a perturbava e a enleava. Aquilo que sempre ansiara ver num homem tivera-o no quarto do doente. Os olhos acompanhavam-na em todos os movimentos, como se não visse outra coisa, e essa demonstração singela de admiração fora como um filtro misterioso a queimar-lhe o coração e os sentidos. Tinha sempre um elogio para os seus vestidos, para o seu penteado, para a doçura dos seus dedos, e mostrara-se totalmente indiferente a que fosse vesga. Fizera-a sentir-se atraente.
Na convalescença enchera a casa de alegria, com as suas inesgotáveis histórias engraçadas, o seu humorismo espontâneo, que tão sabiamente puxava a gargalhada. E dissera-lhe aos ouvidos aquilo que nenhum outro homem ainda lhe tinha dito.
Antes de Chico, ela só conhecera três homens, mais chegados. O pai, que jamais apreciara e estupidamente repelira, o avô e o padrinho. Mas estes dois últimos eram idosos e falavam para ela com o peso da idade. Era evidente que o sentimento que a unira a estes não podia ser igual àquele que nascera em contacto com o «seu doente». Não pudera jugular o fluido novo que se instalara na sua alma. Imensamente vulnerável, não tomara as devidas precauções e permitira que uma ternura avassaladora fosse crescendo, à medida que os dias iam decorrendo. Estava certa de que qualquer outra mulher, nas mesmas circunstâncias, cederia na mesma fraqueza.
Chico tornara-se o fulcro da sua existência, monopolizara-lhe o pensamento, com uma celeridade que a espantava. E tão longe fora que não resistira, entregando-lhe o corpo, impelida por um impulso incontrolável. Fora apenas humana.
Longe dele, sem o acompanhar dia e noite, vinha-lhe o pessimismo. Quedava-se diante do espelho, como antigamente, atravessada por uma sensação de derrota. Era tão magra, tinham razão de alcunhá-la de Varapau-de-Osso. Examinando a cara, esta parecia-lhe tão feia. Desdenhava a curva do peito e odiava o olho estrábico.
Era uma neófita nos jogos de amor. Como ele, um homem experiente, poderia apreciá-la a ela, que tivera de aprender tudo pela primeira vez? Nunca soubera nada, nada. Nem como enfermeira se atrevera a perguntar como aquelas coisas se faziam. A mãe jamais a preparara para «aquilo», sendo um assunto tabu na educação.
E as tias secas muito menos, que morreriam áridas e frustradas. Fora tão desajeitada, reconhecia.
Sentia-se, então, perdida. Antigamente, resignara-se com a solidão, acreditara que casamento, marido, lar e filhos estavam fora do seu alcance. A sua vida fora orientada para um único caminho. O de ficar só. Chico modificara tudo. Dera-lhe a suprema felicidade, revelara-lhe mundos desconhecidos e segredos que jamais supusera existirem. E partira. Fora tudo tão breve mas suficiente para não poder repor as coisas no estado anterior. Esquecê-la-ia, uma vez exposto a outras tentações?
Tudo a sufocava nessa tarde cinzenta que o véu de chuva que começara a cair mais escurecia. O atelier não a distraía, a casa esmagava-a de silêncio, Celeste não a ajudava, murcha e lacrimejante. Não, não estava arrependida de nada. Temia apenas que os seus nervos cedessem e fosse como uma louca à Pensão Aurora implorar que ele voltasse. Só o pudor e a dignidade a coarctavam dessa vertigem. E rebelava-se, num mutismo doloroso, contra a situação momentaneamente insolúvel.
Entregue a estes fúnebres pensamentos, não ligou à Celeste, que aparecera esbaforida, fechando o guarda-chuva a pingar. Nem atentou, no rosto iluminado, que trazia novidades.
- Que estás a dizer?... Não percebo nada.
- Houve uma pancadaria... - Que temos nós com isso?
Celeste, mais baixinho, com uma expressão de conspirador, murmurou:
- Encontrei o nosso vizinho... Nhum António no mercado. Ele contou que houve uma pancadaria na Pensão Aurora. O Sr. Francisco varreu a loja de vinhos a soco. Muitos feridos, cabeças e braços partidos. Um deles ficou cara parecido papa. Gente diz cegou.
- Oh, Santa Bárbara! Mas que foi? O Sr. Francisco, tão quieto... Ele não mata uma mosca.
- Mas, foi verdade... Tudo gente gaba ele muito astrevido. Foi ontem, à noite.
Descreveu o incidente com emoção, alteando a voz para ser escutada, exagerando a heroicidade do mancebo. O mulherio do atelier sacudiu, pergunta aqui, exclamação ali. Victorina, alarmada, esquecera-se até de pedir discrição.
- Mas porquê?
- Nhum António disse aqueles homens insultaram uma menina. Sr. Francisco não gostou e bateu.
O coração pulsava violentamente. Toda ela se agitava perante aquela insólita novidade. Num fio de voz, inquiriu:
- Quem era a menina?
- A menina era a Menina - apontou-lhe o dedo feliz, numa gargalhada de triunfo.
- Eu?
- Sim... alguém pronunciou qualquer coisa feia, o Sr. Francisco ficou fulo. Exigiu desculpas. Outros malandros juntaram ao malandro, Sr. Francisco socou. Partiu mesas, cadeiras, garrafas de vinho...
- Ficou assim tão zangado?
- Como uma fera. Tinha força dum leão. Fez sangue...
- E a polícia?
- Não veio. Ninguém sabe por que não veio... Eram seis contra um.
- Oh, ele podia morrer.
- Mas não morreu. Um soco e logo um estendido no chão. Foi um valente! A Menina tem um protector...
Victorina, então, sorriu, ao mesmo tempo que limpava os óculos embaciados. Era a primeira vez que alguém se atirava à liça por sua causa. Era uma deliciosa e inebriante sensação. Um cavaleiro andante terçando armas pela honra e pundonor da sua dama. Valia a pena viver e sofrer para ter aquela recompensa.
Agora podia caminhar de cabeça levantada, sem ter de forçar nada. Ninguém mais se atreveria a rir-se dela, pois havia uns punhos poderosos a escavar os insolentes e cobardes. Já não estava sozinha, Chico guardava-a, com a alma de leão. Aprumou-se, orgulhosa, passou a mão pelos seus bastos cabelos num toque de vaidade e encaminhou-se para a porta, muito direita. O resto do mulherio calou-se, impressionado com a alegria que se estampava no rosto da patroa. Victorina olhou para a rua, recolheu definitivamente os óculos, contemplou a chuva que cantava sobre as pedras da calçada. Voltou-se depois e comentou:
- O dia está lindo... não acham?
A notícia do evento na Pensão Aurora correra efectivamente célere. As testemunhas, logo que regressaram a casa, soltaram as línguas. Na pasmaceira da «cidade cristã» era uma novidade de estalo.
No dia seguinte, desde manhã, no mercado, no adro das igrejas, nas repartições, de casa em casa, nos clubes, os «noveleiros» tinham matéria farta para contar. O exagero crescia. À noite, Chico já era um herói sanguinário. Narrava-se que houvera facadas e Silvério se encontrava degolado, às portas da morte. Contava-se com a prisão iminente de Francisco Frontaria. Já não era mais Chico-Pé-Fêde, o palhaço colocado no pelourinho da chacota e do ridículo.
De minuto a minuto, a sua aura crescia. O espanto era geral. Quem diria, um homem que parecia a paz em pessoa, dado a folias e com inveterado gosto pela boémia e pândega. De repente, era aquilo, uma explosão assassina de selvageria. O barbeiro Inácio, de barba em barba, ia pontificando. Vira a sua cara patibular. Fora a doença misteriosa que o modificara. Activara nele o sangue adormecido dos Frontarias lorcheiros. E depois, vivendo na casa da neta do Padilla «espanhol», que havia de esperar? Por isso, ele, Inácio, barbeiro de três governadores, achara prudente deixar de lhe prestar serviço. Curioso é que tudo isto não diminuíra o prestígio do rapaz.
De súbito, não era só o paladino duma dama, era também um revolucionário. Ninguém sabia explicar por que uma pancadaria iniciada por causa de Victorina Vidal acabara por ser uma luta entre monárquicos e republicanos, sendo Chico o chefe destes e Silvério o dos outros, quando, naturalmente, pelas raízes familiares, devia ser o contrário. De qualquer maneira, a sua reputação de valente saía incólume, enquanto Silvério rolava para o descrédito duma sociedade farta das suas insolências, que tinham já excedido os limites do razoável.
De cama, Chencho escutara também, trazido pela cara-metade, que lhe atirou com estrondo o relato, regressada da missa. Na tarde célebre voltara aos trambolhões para o lar, derreado de susto, sem ter explicado nada à mulher e aos filhos do motivo de tamanho transtorno. Tomara «cordial» e outras mezinhas caseiras para acalmar e conservara-se na cama, fingindo doença aquilo que não era mais que medo.
Imagine-se o pavor que o arrepiou quando o relato ruiu sobre ele. Pálido, recordou-se do punho homicida, os dedos encravados nos seus ombros, a sacudi-lo de encontro à parede. Sentiu, de repente, as calças do pijama outra vez molhadas. Muito ia ralhar a mulher, chamando-lhe sem-vergonha, mas preferia isso a encarar o sanguinário. Tivera uma sorte! Por Santa Filomena da sua devoção, livrara-se de boas! Como não se lembrara que era um Frontaria! Apalpou-se instintivamente, para se certificar se tinha os ossos intactos, a mente recordando o pesadelo que o acompanhava por noites inteiras. O de ver-se esfolado, a sua pele a ser comida com ovos estrelados.
Chico, à margem de todo esse burburinho, depois dum sono profundo, só tinha uma preocupação. O acontecimento espalhar-se-ia pela cidade, disto não duvidava. Inquietava-o como Victorina iria receber o seu envolvimento numa pancadaria, ele que lhe prometera portar-se bem, como um cidadão exemplar. Tinha os músculos a doer, lacerações na cara, mãos inchadas, marcas no peito e nas costas e na zona do estômago. O exame aos pés foi atento, mas não viu nada de anormal. Podia muito bem calçar os sapatos.
Vestiu-se impecavelmente, a imagem da Victorina na retina. Era preciso dizer-lhe qualquer coisa, já não lhe escrevia há uns dias, para que não o julgasse um desordeiro ou um rufia. Apesar disso, não conseguiu reter um sorriso de orgulho ao mirar-se ao espelho. Derrotara finalmente Silvério, tinha a honra lavada, demonstrara ser um homem. Como conseguira, fosse ou não fosse milagre, teriam todos mais cuidado em meter-se com ele dali em diante.
Resolvera nada ocultar ao patrão. Era preferível contar os factos da sua boca do que por intermédio das bocas do mundo. Não podia disfarçar os sinais evidentes no rosto. Ao entrar no escritório, deparou com a secretária vazia de Chencho e não pôde conter um sorriso. Continuava doente, a derrear-se de medo. Aparentemente, ali nada se sabia ainda. Estranharam os colegas, estranhou o advogado, ao ver-lhe o semblante. Mas as tarefas do dia não deram pano para conversas e a manhã correu absorvida pelo serviço, que era muito. Sem Chencho, o ambiente era livre e fraternal. À falta do escriturário que «nunca mais se curava», Chico foi convocado para intérprete e saiu-se bem. Anísio, mais aliviado, revelou-se eficiente, sem os nervosismos e receios de falhar, sem ninguém a descompô-lo por tudo e por nada. Nem sequer mostrara qualquer indício de inveja por Chico ocupar um lugar que lhe caberia por ser mais velho no escritório.
Não almoçou na Pensão Aurora, mas sim no Hotel Oriental, à Praia Grande. Aquele dia era especial, o da reabilitação. Enquanto esperava pela comida dum menu à inglesa, rabiscou cuidadosamente um bilhete para Victorina, com os mesmos erros de ortografia e pontapés na gramática.
À tarde, o escritório já sabia, pela maneira como o encaravam, sem se atreverem a perguntas. Faltava o patrão. Penetrou no gabinete. Tovar, com a caneta na mão, a ponta do aparo a encher-se duma gota de tinta, estacou, perplexo, ao vislumbrar a solenidade e o aprumo do seu subordinado. Obrigou-o a repetir o que tartamudeava e logo pasmou com a «odisseia sangrenta».
- Ele insultou D. Victorina. Eu... eu não podia consentir...
Recordando a figura magra e hirsuta de Victorina Vidal, que adregara tão original paladino, o advogado sentiu-se divertido, mas exteriormente assumiu um carão grave.
- Ficam-te bem esses sentimentos, mas andar à pancada...
- Não tinha outra forma... Tem ocasiões que só porrada resolve.
- E o outro como ficou?
- O Silvério? Esborrachei o nariz dele... Foi para o banco do hospital.
Ele tinha tanta vaidade no nariz. Agora não sei...
- Podes apanhar com um processo às costas.
- Silvério não vai apresentar queixa. Foi tudo dentro de casa. E depois... nenhum juiz me condenará. Tenho testemunhas... Foi uma luta leal. Provocou, eu desafiei. O Sr. Doutor vai defender-me, se for caso disso.
- Que remédio! Sou amigo teu e da Sr.a D. Victorina. Mas não te habitues a resolver os problemas à sopapada. É mau princípio. Não quero ferrabrases no meu escritório.
- Não sou desordeiro... Sou um homem de honra.
Tovar apreciou aquelas palavras. O rapaz conquistara-lhe as simpatias. Assumira responsabilidades, a contento, muito além da sua função de copista. No entanto, fez-lhe uma prelecção sobre as consequências de maus fígados. Ninguém devia fazer justiça com as suas próprias mãos. Chico não tugiu nem mugiu, concordando. Por fim, quando o patrão parou para respirar, interrompeu-o:
- Se o Sr. Doutor estivesse nas minhas condições, não faria o mesmo?
Perdera o seu «latim». Riu-se, replicando:
- Partia-lhe os dentes todos logo à primeira. Mas isto não quer dizer que não tenha razão no que disse atrás. Nada mais de pancadaria.
- Julgo não ser mais necessário.
Mas não se deslocou do lugar. Tovar, impaciente, indagou sobre o que mais desejava. Tossicando, Chico explicou. Victorina precisava de saber toda a verdade. Escrevera-lhe já, mas tão mal que ela não conseguiria entendê-lo. Falar era uma facilidade, mas redigir não era com ele. Humildemente, rogava que o ajudasse a expor melhor.
Tovar, bem disposto, perguntou:
- Por que não vais falar com ela pessoalmente?
- Prometi não visitar, enquanto não pudesse dar mais que simples conversa. Já dizem tanto mal de nós. Victo..., a Menina Victorina não merece isto.
- Não escrevo coisa nenhuma. Vou esta tarde falar-lhe pessoalmente. Já há muito lhe devo uma visita. Aproveito a ocasião e transmito-lhe o recado.
Tomara aquela súbita decisão porque estava morto de curiosidade. Queria saber como tudo aquilo começara, desde o princípio. Era um dever moral proteger aqueles dois entes, tão desconformes e diferentes um do outro, que a sorte, sempre irónica, acabara por unir no mesmo transe.
- Bom, não fiques o dia inteiro a agradecer-me. Lembra-te de que tens dois requerimentos a copiar. Preciso deles já...
Ao sair do escritório, sem mais tocar no assunto, mas interiormente com pena de Chico, que seguia, a todo o momento, os ponteiros do relógio, chamou o rickshaw e ordenou ao condutor que o levasse para S. Lourenço. Falava por acenos e o outro entendeu-o.
Apreciava aquela hora calma, a melhor do dia, em que o céu se doirava para os lados da Lapa e em que as sombras das árvores cresciam, anunciando a noite. Era a hora propícia para a meditação, a saudade a voar para a sua aldeia natal e longínqua, que um dia deixara, já um bom rol de anos. Mas nessa tarde especial não se deixava enlear por recordações, ia encontrar-se com Victorina Vidal, sua cliente e amiga, que andava nas bocas do mundo. Estranho... Antipatizara com ela quando aparecera pela primeira vez, na companhia da mãe, esquelética, um arame fino, parecendo trazer a malevolência dos Padillas. Mas conhecera-a melhor depois de surgir no
escritório por causa de Gonçalo Botelho e da carta do Hipólito. Insólita mulher, que ganhara duas heranças sem pedir nem se esforçar por coisa nenhuma. E como salvara esse endiabrado do Frontaria! Ganhara-lhe afeição e não se compadecia em manter-se impávido perante as arremetidas da calúnia. Naquele dia especial sentia o imperativo de manifestar-lhe a solidez da sua amizade.
Chegou à casa do Lilau, desceu do rickshaw e bateu à porta, emproado no seu aspecto leonino, os cabelos grisalhos rolando até os ombros, a emprestar-lhe um perfil de patriarca venerável.
Celeste recebeu-o, admirada, e convidou-o para a sala. Tivera sorte, porque a Menina só voltara havia dez minutos do atelier. Depois, lesta, porque os homens eram tão raros naquela casa, corréu para o primeiro andar, a anunciá-lo.
- Tovar, sozinho, aprovou o gosto da sala, que cheirava a benjoim, as mobílias, os azuis e brancos da porcelana, os quadros. Victorina apareceu, num vestido branco caseiro, toda ela um rumor de saias, dos lábios pendendo um sorriso de surpresa. Tinha uns dentes bonitos o diabo da mulher! com ar tão fresco e rejuvenescido, sem o aspecto cansado e tristonho que tanta vez lhe surpreendera. E os cabelos! Que lindos cabelos tinha aquela mulher! E não ostentava os óculos!
Apesar dos protestos de que só se limitaria a um cálice de vinho do Porto, Celeste trouxe-lhe o chá em loiça escolhida. Havia um prato de pães recheados e chilicotes. Noutro, fatias de bolo-mármore e surang-surave.
- Estão frescos. Acabei de comprá-los ao merendeiro. Duas colherinhas de açúcar no chá, um pão recheado e uma
fatia de surang-surave. E não saíam de banalidades. Por fim, Victorina, ao depor na mesa a sua chávena fumegante, perguntou, suavemente:
- Sr. Dr. Tovar, o que é que o traz aqui, além de saber sobre a minha saúde?
- Ontem deu-se um acontecimento que envolve o seu nome. Ela corou, como uma donzela de quinze anos. Cruzou as mãos no regaço, enquanto procurava resposta adequada.
- Já sei... O pugilato.
- Sim. Deve ser o prato do dia para a má-língua.
Ela encolheu os ombros. Já não era surpresa e, em todo o escândalo, era a mulher quem perdia, tivesse ou não tivesse razão.
- Calculo o que estarão as minhas tias a morder-me. A maioria das pessoas armam-se em meus juizes severos. Eu sou a causadora até do sangue. Se houve uma família que aparentemente se manteve neutral, sem uma palavra de censura ou de curiosidade, foi a de meu pai. De quinze em quinze dias tenho um convite para o jantar. Decidiram não romper o que tão dificilmente foi reatado. Tudo muito cerimonioso, sem afecto espontâneo, mas sem hipocrisia. Quanto a outros, não me rala nada. Não deixo de ser o que sou.
- É uma rapariga corajosa.
- É a minha defesa. Demais, tenho possibilidade de o ser.
- Victorina. Eu trago um recado do Francisco.
- Como está ele... Muito ferido?
- Nada. Apenas umas marcas nas faces e nas mãos. Quanto ao resto, está fino que nem um coral. Pediu-me que transmitisse.
Ela atentou, com vivo interesse, para o recado e depois sorriu, enternecida. Era um valente. Este pormenor cativou o advogado, que disse:
- Victorina, eu sou muito seu amigo. O rapaz é um bom empregado e está a dar conta do mister. Hoje não tenho dúvidas da sua seriedade. Conta-me... conta-me como tudo começou.
Hesitou nas primeiras palavras. Vivera sempre retraída, confiando raramente os seus pensamentos a outrem. A última pessoa fora Gonçalo Botelho e ele já morrera. Concluiu que não devia calar-se, como não se calara diante do P.e Miguel. Narrou a história mais desenvolvidamente, desde a noite em que a levantara do chão e, apesar de ferido e doente, a acompanhara até casa. Depois, a pena que suscitara o estado dos seus pés e do corpo, em degradação. Quem não lhe acudiria naquele transe? Só as almas empedernidas e movidas pelo prazer de malinguar a podiam censurar. Evidentemente que não tinha de correr de casa em casa para se justificar. Curá-lo apresentara-se como um desafio. Entusiasmara-se, fora talvez imprudente de enfrentar sozinha tal responsabilidade. Conseguira o seu intento ou por sorte ou por sabedoria. Depois, compadecida, quis recuperá-lo para a sociedade, fazer dele um outro homem. Onde estava o mal? Era a mesma pergunta que dirigira ao P.e Miguel.
- Esta casa era tão triste enquanto ele não apareceu. E voltou a estar triste porque ele já cá não está. A sua presença como que iluminou tudo. Compensou, à sua maneira, aquilo que lhe fizemos. E modificou a minha vida, para que negá-lo?
- Quem diria! Nunca supus o Frontaria capaz de tal proeza.
- Tem a faculdade de dispor bem toda a gente que o rodeia. Não é um palhaço, porque este faz rir por ofício. Francisco vive a sua gargalhada, o seu humorismo brota do coração. Ora, uma pessoa que espalha em volta a alegria não pode ser má. Francisco é um rapaz simples, modesto, com poucos estudos, mas aprendeu a pensar sensatamente, talvez por ter sofrido muito nestes últimos tempos.
- Fala com tanto entusiasmo. Creio que gosta dele. Ela corou de novo e replicou docemente:
- Não tenho nenhum termo de comparação. Francisco foi o único homem, afora o meu pai, o meu avô e o padrinho, com quem tive mais contacto. Se gostar é sentir-se contente com alguém por tê-lo próximo e penar com a ausência dele, sim, eu gosto dele. Foi o primeiro homem que se dignou olhar para mim como uma mulher. Deu-me a grata sensação de ser bonita, não ter nenhum defeito. Isto chega.
- Mas o Francisco... O passado não abona nada em seu favor. Lembre-se do caso da menina Saturnino.
Acusou o toque, recuando o busto. Era um risco que tinha de correr. A mente povoou-se dos beijos vorazes, a força duma virilidade plena, a dor e o prazer que lhe ficaram da noite de amor. Com ela, a digníssima e casta Victorina Vidal, a «tia crónica» de perfil hirsuto, ele fora mais longe. Com a outra, poupara-lhe a virgindade.
- Eu sei... Os ditames do coração não obedecem aos da razão. Gosta-se porque se gosta. Quanto a mim, não houve a possibilidade de escolha.
Podia ainda acrescentar que não tinha a certeza se estava grávida ou não. Preferiu calar-se. A simplicidade das-palavras, porém, comoveram o advogado. Sacudiu a cabeleira leonina e esbracejou.
- Esta situação não pode continuar assim. Há o bom nome da Victorina. Ele tem de reparar...
- Que reparação? Estou imensamente grata a Francisco por defender a minha honra. É porque também gosta de mim. Não force nada, peço-lhe. Dê-nos uma oportunidade. Da parte dele, para provar-me que não me procura por causa do dinheiro somente. Da minha parte, para ter a certeza de que me prefere entre todas as mulheres.
- Vocês os dois... Nunca suporia...
- É verdade. Nem eu, nem ele. O acaso pregou-nos uma partida e prendeu-nos através duns dedinhos de pé. Que estranho e que bom ter finalmente um cavaleiro andante, um príncipe encantado, a sair em minha defesa.
Esplendia, radiante, a pele do rosto fresca e remoçada. O olho estrábico, cintilante à luz dos candelabros de petróleo, dizia que já não tinha medo.
Tovar, ao despedir-se, beijou-lhe a mão com gentileza. Intimamente, admitiu que Victorina tinha um secreto encanto. O diabo do Frontaria, que fora descobrir esta mina, enquanto os papalvos passavam ao largo, em estúpida displicência.
- Victorina... É uma mulher extraordinária.
Dois dias depois e era um domingo. Voltara da missa de S. Lázaro, onde, praticante desde que pisara a rua, rezava pedindo protecção divina para a bem-amada. O sol entrava pela varanda do quarto, em charco doirado, e o calor implantara-se. Na escrivaninha amontoavam-se papéis amarrotados. Eram tentativas de carta mais comprida para Victorina que ficavam pelo começo ou pelo meio, por não encontrar expressão feliz. Tinha uma letra bonita, mas não sabia construir uma frase sequer decente. Nunca se lamentara tanto por não ter ligado aos estudos, compreendendo tardiamente o seu desnível de instrução. Levara tudo a brincar e agora era aquela vergonha. Mas escrever tinha de escrever, pois impusera-lhe isso o Dr. Tovar.
- Dei-lhe o recado que me pediste. Escreve qualquer coisa, mas que venha do coração. Não importam erros. O que é preciso é que ela fique mais satisfeita.
Ah, se lhe pudesse falar! Mas entrar naquela casa, cheia de recordações, revendo o ambiente de carinho, sem uma proposta concreta, não seria correcto. Conhecia-se perfeitamente bem, não conseguiria tratá-la com cerimónia, como se fosse apenas uma amiga. Imaginava o que iria fatalmente acontecer. Ela recebê-lo-ia alvoraçada e meiga, ficaria para o jantar e depois não resistiria. Mas proceder assim era alimentar a maledicência. E ele prometera honrá-la. A única solução que antevia era solicitar-lhe a mão. Mas como, se nada tinha para lhe oferecer, senão a sua pobre pessoa? Ligar-se a ela por laços de casamento, com as mãos a abanar, apenas com o seu emprego de copista, era confirmar aos olhos do público que se casava com a mira nos dinheiros dela. Isto custava ao seu orgulho restaurado.
Nesses dias, é certo, ganhara a consideração de muita gente. Havia na rua sorrisos e mãos estendidas. O próprio Chibo Manso cortara o Largo do Senado para cumprimentá-lo. Fazia ostensivamente as pazes, gabando da sua heroicidade por ter espatifado o Silvedo e a malandragem que o acompanhava. Não era que o rufia pretendera agatanhar a boa da Ermelinda? Não fosse ela a pô-lo nos eixos com uma vassoura-de-pena e teria havido pancadaria igual. Convidava a retomar as saudosas partidas de «sueca», a Ermelinda a confeccionar um novo jantar. Fora tudo um mal-entendido. Chico fugiu a toda a brida.
Chico-Pé-Fêde desaparecera. Era o Sr. Frontaria, ou Sr. Francisco, ou ainda Francisco, ou, mais familiarmente, Chico. Até o Chencho, que regressara ao escritório, se revelara amável, manso que nem um cordeiro, distribuidor pontual das gorjetas, saindo sempre ao fecho do serviço, deixando para trás o sai kó para encerrar as portas.
Não fora molestado por autoridade nenhuma. Silvério não apresentara queixa, sumido algures para recuperar a cara devastada e o nariz esborrachado. Apenas João Tomé Zacarias fora interrogado sobre um boato da luta entre monárquicos e republicanos. O honrado dono da pensão negou, esbracejando contra a torpeza das «más-línguas». À noite, num canto do botequim, proibiu Zé Trigo que expandisse com tanta leviandade os seus entusiasmos políticos.
Encontrava-se encravado com uma palavra, na dúvida se devia escrevê-la com «s» ou «z», quando Totó, esbaforido, lhe veio anunciar que estava em baixo um cavalheiro que lhe pretendia falar. Olhou para o «amigo dos mais fortes», que agora praticamente o servia, franzindo a testa irritada. Quem o procurava, numa manhã calma de domingo? Totó, humilde, respondeu que conhecia a cara, mas não o nome. Mandou-o subir.
O seu espanto foi maior quando surpreendeu na moldura da porta o vulto perfilado e solene do Tio Timóteo. Já quase se esquecera dele. Havia tantos anos de relações cerceadas e eis que ele aparecia, direito como um fio-de-prumo, colarinho alto e duro, que o devia sufocar no tórrido calor. Bengala de castão dourado e chapéu-de-sol, o fato duma brancura que até cegava. O Tio Timóteo! Uma bomba estoirada no quarto não teria o efeito de surpresa como aquela! Ficou boquiaberto, sem atinar que nem o cumprimentava, apenas com um sinal ao Totó para se retirar.
O tio, com passadas adentro, estendeu-lhe a mão. Instintivamente, com o temor reverencial de outrora, curvou-se e beijou-lha.
- A sua bênção... tio.
- Quem é este vadio que me anunciou?
- Um pobre diabo que me quer servir. Ando a endireitá-lo para ser um homem de bem.
- É aqui onde vives, então?
- Sim. É arejado, limpo. E come-se bem.
- Um Frontaria nunca viveu numa pensão.
- Já vivi num casebre... Entrava chuva e tinha muito percevejo. O Tio Timóteo fez um gesto despiciendo. Águas passadas... Viver
numa pensão era como se vivesse num antro de vícios. Santo Deus! Quando aquele tio se deixaria de prosápias? E que fazia ali?
Timóteo Frontaria andava de cá para lá e de lá para cá, verrumando os cantos, examinando os móveis, verificando a poeira na ponta dos dedos e meneando a cabeça. A maçã-de-adão subia e descia, entalada no alto do colarinho. Entesava tanto as costas que aparentava maior altura.
- Soube que já tens emprego.
- As notícias correm bem depressa...
- E que recobraste juízo. Vim para verificar com os meus próprios olhos.
- Obrigado pela visita. Não envergonho ninguém.
- Se te mandasse chamar, não virias. Mas sou generoso. Quando reconheço qualidades em alguém, tomo a iniciativa. Nestes últimos tempos só tenho ouvido falar da tua radical transformação. Gostei que, finalmente, te recordasses que és um Frontaria.
Rangia os sapatos, que também eram brancos. Ainda não se propusera a sentar-se, saltitando daqui para acolá, brandindo a sua bengala de castão de ouro.
- Também tive conhecimento que andaste em pancadaria, em que houve sangue, feridos e ossos partidos.
- Exageraram. Foi com um apenas. Foi uma valente porrada. Deixei um nariz que já não volta a ser o mesmo. Castiguei um atrevido.
- O que não percebo é como, por causa duma senhora, se envolveram monárquicos e esta súcia de republicanos.
- Repu... Eu sei lá o que é isso! Histórias inventadas... A porrada foi entre dois homens apenas. Eu e o Silvério da Silva.
- Um traste que apanhou a sua lição.
Criticou a palavra «porrada», que um rapaz educado não devia jamais pronunciar. Com o dedo em riste, o corpo pequeno crescendo na ponta dos sapatos, pontificou:
- Uma brava sopapada é sempre censurável, na medida em que vamos contra a ordem e nos transformamos em arruaceiros. Mas a tua atitude justificava-se, se é verdade aquilo que me contaram. Gostei... Defendeste a honra duma dama fraca e sozinha no mundo. Seguiste a tradição dos teus antepassados. No entanto... no entanto, não adquiras o hábito de desancar em toda a gente. Isto de cócegas nos punhos pode ser prejudicial.
Chico prometeu. Continha uma vontade imensa de rir. Implorava que não desatasse numa gargalhada e ofendesse o tio. Mas este, no seu vaivém eterno, não adivinhava nada. Parou, de súbito, contemplando o torso do sobrinho, a extravasar saúde, e perguntou:
- Socaste-o bem?
- Soquei. Diz o Totó que ainda não se levantou da cama. Já não volta a incomodar as pessoas.
- Um verme a menos. Tens o sangue e o corpo dos Frontarias. Eu nasci franzino, nunca me cresceram os músculos. O físico não corresponde a um Frontaria. Só o espírito, que é de leão.
Lá teimava ele nas usuais prosápias, agora com uma pontinha de amargura. Retomou as suas passadas por uns segundos e estacou, apoiando-se na bengala.
- Há o nome duma senhora em jogo, no entanto. Contaram-me tantas enormidades que te escrevi. Não podia calar-me. Tu e ela... ela e tu. Não acreditei em metade. As tais tias Padillas foram as que mais sopraram. Mas que viveste em casa dela, viveste. Antes disso era uma menina de quem nada se podia apontar. Virtuosa, casta, recatada. Eu não tentaria intervir se ela não fosse a filha do Hipólito Vidal. Eu não suporto vê-la arrastada na lama por tua causa.
- Na lama, nada! É a mulher a quem mais respeito.
- Ficam bem essas palavras, mas não bastam. Só tens um caminho.
- Caminho? Mas não entendo...
O Tio Timóteo fitou-o severamente e a voz vibrou, quase irritada:
- Não me interrompas. Nada mais me enerva que me interrompam quando discorro. Ainda perguntas que caminho? É casares-te com ela, homem. Fui sempre amigo de Hipólito, que me honrou com a sua amizade. Era um homem excelente, sossegado, um espelho de virtudes. Lá que depois desse em droga, abandonando a mulher e a filha, isso foi uma doença. Não estava em si. Foi obra da franco-maçonaria. Desiludiu-me o seu procedimento anticristão. Não me esqueci, contudo, dos tempos de escola, no Seminário, em que ajudava a todos, sempre que podia. Censurei o seu passo, mas não deixei de querer-lhe bem. A filha foi concebida no himeneu dum amor impoluto, abençoado pelo casamento. Não foi gerada quando o pai vivia em pecado. Por isso, o sangue é bem merecedor de veneração. Sim, sobrinho, de veneração.
Os sapatos deviam-lhe doer, porque se equilibrava ora num, ora noutro pé.
- É claro que não tem o sangue dos Frontarias. É só consultar a árvore genealógica dos Vidais. O dos Padillas é que não é nada bom, é mesmo péssimo. Gente conflituosa, amiga de enredos e pancadaria. Basta aquele gosto do «espanhol» para curar vergonhas e podridões vindas das mulheres perdidas. Ali mostrou de que estofo era feito. Mas Victorina Vidal saiu toda do lado do pai, do pai dos bons tempos. Não é nova, não é bonita, tem aquele defeito nos olhos e é magra, sem febras, mas é uma Vidal. E rica... o que é um ponto importante. Tu não és também um garoto qualquer. Estás na idade de te arrumares definitivamente. Com todos os predicados... é a mulher que te convém.
Não ia zangar-se com aquele tio que vivia fora das realidades da vida. Com toda aquela fala difícil, torrando o português, com toda a instrução e educação que tinha, não sabia o que podem a fome, a doença e a miséria. Se não fosse o «gosto» de Pablo Padilla, transmitido à neta, e já não teria o sobrinho no rol dos vivos.
- É preciso que ela queira.
- E por que não há-de querer, depois de tudo que aconteceu?
- E o que aconteceu? Recebeu-me em casa, tratou das minhas chagas, alimentou-me e curou-me. Arranjou depois emprego para mim, com o Dr. Tovar... Ainda foi mais longe. Deu-me dinheiro para aguentar por uns tempos - todos estes fatos que uso, os sapatos, o relógio, as camisas e as gravatas e os laços pertenceram ao Sr. Hipólito Vidal. Como apareci, de repente, com tudo que tenho hoje e este quarto de pensão? Foi ela que me permitiu... Que mais lhe posso pedir?
Timóteo Frontaria sentou-se, varado. Durante anos cerrara os olhos e a bolsa à queda do sobrinho. Condenara-o irremissivelmente, como alguém incapaz de se reabilitar, riscando-o para sempre do seu convívio. Nem quando, sujo e esfarrapado, vagueava aos trambolhões pelas ruas, em ofícios degradantes, para deslustre dos Frontarias. E uma estranha, sem obrigação moral nenhuma, estendera-lhe a mão caridosa e recuperara-o para a sociedade. Timóteo Frontaria pungiu-se. Para ocultar a sua perturbação, tirou uma pitada de rapé e ficou a fungar por algum tempo.
- Não, tio, eu não posso pedir-lhe, sem mais nem menos, que case comigo. Que é que lhe dou em troca, pobre como sou, a não ser a impressão de que vou atrás do seu dinheiro? Preciso tempo para arrumar a vida. Se julga que Victorina suplica que lhe salve a honra e apague qualquer nódoa, engana-se. É uma mulher corajosa, não tem medo das calúnias. É independente e possui riqueza suficiente para não se importar. Eu... eu tenho o orgulho dos Frontarias.
Houve um silêncio. O tio parecia vergado com os factos. Uma mosca persistia em poisar na sua testa oleada de suor. Pela primeira vez, Chico saboreou uma superioridade sobre ele.
- Diz-me uma coisa... Ao menos, gostas dela?
- Sim... gosto. Seria o mais feliz dos homens se casasse com ela. Não sei porquê, mas não quero outra. Se não gostasse, não gastaria este monte de papéis só para lhe escrever uma carta.
O que via em Victorina Vidal, senão o dinheiro, não sabia. Talvez o feitiço estivesse justamente no olho estrábico. Com uma palmada nos joelhos, disse:
- Ah, assim sim, assim é outra coisa. Gostas dela. Pensei que... Estou satisfeito, estou satisfeitíssimo. Tudo se arranja...
- Arranja-se, não! Eu não posso ir ter com ela, só com o emprego do escritório. Preciso de tempo.
- Qual tempo, nem qual carapuça. Isso é teimosia.
- A teimosia dos Frontarias. : Tio e sobrinho mediram-se. E os sapatos voltaram a ranger, no mesmo vaivém, enquanto Chico não largava a vista da maçã-de-adão a subir e a descer.
- Tu não vais casar com as mãos a abanar. A tua tia e eu não temos filhos. És tu o nosso natural herdeiro. Contigo desaparece a família em Macau, se não casares. Ora, eu tenho alguma coisa... o que resta do desbarato duma fortuna opulenta, economizada e posta a render avô a avô. É tudo teu... se casares com Victorina.
- Mas, tio...
- Costumam os pais dotar as filhas para o casamento. Pois tu serás o primeiro noivo a receber um dote. Será em dinheiro contado no banco. Terás o suficiente para ires junto dela como um homem de posses, como um verdadeiro Frontaria. Se julgas que vou permitir que algum estupor lhe vá agarrar a «massa», não, mil vezes não.
Chico engasgou, cortado pela surpresa. Quem havia de dizer, daquele tio! Estava mesmo empenhado em casá-lo. Num instante, apertavam-se num grande abraço, ambos com os olhos húmidos.
Em seguida, Timóteo Frontaria lançou-se numa longa tirada. Analisou a vulnerabilidade da mulher numa sociedade injusta de prevalência masculina. Invectivou o despudor satânico dos homens, que só querem divertir-se e depois sacodem de si a responsabilidade das consequências. Evocou a honra, a santidade do matrimónio, a beleza da virgindade, guardada até o himeneu sagrado, como forte esteio «contra este mundo empedernido de materialismo». E apontava, inspirado, como exemplo, a Victorina, «essa rosa ebúrnea de pureza».
Chico escutou-o, a princípio, tão solene como o tio. Depois, enervou-se por não entender aquele chorrilho exaltado de palavras. Se o tio soubesse toda a verdade, teria uma apoplexia. Nunca compreenderia a razão de terem ido tão longe na última noite. Nem por isso Victorina se tornara menos pura ou menos rosa ebúrnea.
Por fim, a oratória cessou, quando acordou para a realidade, às palmadas contra a mosca fascinada pela testa suarenta.
- Estou com sede...
- Também eu. Após este discurso bonito, só uma cerveja - e correu, clamando por Totó, plantado no corredor, que aviasse duas garrafas geladas.
Ao tilintar dos copos, o rosto de Timóteo assumiu um ar beatífico.
- A raça dos Frontarias não acaba.
- Está a caminhar muito depressa, tio.
- Então para que é o matrimónio, senão para ter filhos? Deus, na Sua infinita misericórdia, não mos quis dar, por qualquer pecado cometido na mocidade, embora fosse sempre cumpridor da Sua lei. Resigno-me. Mas, se fiquei privado de filhos, que, ao menos, tenha netos. Um pequeno Frontaria para levar ao colo, ajudar a educar e me aquecer a velhice.
Perdeu-se nesse sonho, mirando a janela, onde um pedaço de céu azul espreitava, como se ali vislumbrasse uma criança a brincar. Chico, comovido, encheu de novo o copo.
- A nossa casa é tão silenciosa... um casarão para dois velhos. Vivemos tão sozinhos que chegamos a ter medo. Há falta de crianças. Como a tua tia vai ficar contente! Dá-nos, a mim e a ela, um neto, Chico...
- Não posso garantir, tio. Victorina e eu já não temos vinte anos.
- A tua tia já anda a orar a Santo António.
- Ele é apenas casamenteiro.
- Oh, não digas isso, blasfemo! O nosso Santo António, o Santo António da nossa igrejinha, é muito rabino. Faz outros milagres. É só pedir-lhe com devoção. Diz a tua tia que nunca lhe negou um pedido.
- Assim seja...
Timóteo Frontaria extraiu da algibeira interior do casaco dois charutos, embrulhados em lenço fino, com cheiro de lavanda, o que fez lembrar o perfil do Dr. Tovar, e ofereceu um ao sobrinho.
- Podes fumar na minha presença.
Chico apreciou aquela dádiva, com delongas para acendê-la. Absorveu fundo e expeliu a primeira fumaça com unção. O aroma agradável esparziu-se no ar, correndo para a janela e varanda. Afundou-se mais na cadeira de verga e, pela primeira vez diante do tio, cruzou as pernas. Estavam definitivamente reconciliados.
- A tia quer que vás viver connosco. Não vais dizer que não, ela até já preparou o quarto. O passado está apagado, olhemos apenas para o futuro. Seria uma alegria para nós os dois. Não faz sentido um Frontaria viver em pensão.
Podia desfiar todas as recriminações contra aqueles tios. Mas para quê? Deliciado com o charuto, assentiu. Era também bom ter uma família.
- Aliás, isto aqui não é ambiente para um rapaz casadoiro. E não gosto nada desta coisa de lutas entre monárquicos e republicanos. Dizes que não, mas não há fumo sem fogo.
- Eu torno a dizer que não sei o que isso é...
- Os Frontarias foram sempre fiéis a Sua Majestade Fidelíssima. Isto aqui tem fama de antro de revolucionários. Mais uma razão para não ficares.
Paciência, tinha de aturar aquelas prosápias, sabe-se lá até quando. Mas daí não vinha morte de homem. Eram manias como quaisquer outras. Aquele tio sempre pugnara para segurá-lo. Finalmente, conseguira. Benevolente, acedeu e o enfezado semblante à sua frente resplendeu.
- Preciso de contactar com Victorina. Quem poderá ser o meu emissário? As coisas serão feitas como manda o bom-tom.
- O Sr. Dr. Tovar...
- É verdade, o Romano Tovar. Eu que não me lembrava dele. É mesmo o homem indicado. Advogado dela, saberá alisar quaisquer arestas.
Falaram, então, dos planos futuros. De repente, Timóteo disse:
- Aqui tem a fama de que se come bem. A tua tia foi convidada para um almoço, portanto, não tenho refeição em casa. Qual o prato do dia?
- Cozido à portuguesa.
- Forte e indigesto, mas bom. Ora, um dia não são dias. Almoço para dois e contas com a gerência depois. Ouvi dizer que o Zacarias é um rico cozinheiro.
Entre nacos de chispe e paio suculento, regados por um vinho tinto aveludado, Chico contou o que podia contar da sua odisseia com Victorina. O Tio Timóteo, embalado pelos eflúvios do álcool, comentava, a cada pausa:
- Temos mulher... Temos uma boa mulher.
Os acontecimentos precipitaram-se. Foi acolhido com lágrimas pela tia, também esquecida dos antigos agravos. Adaptou-se facilmente ao ritual do lar, cuja soturnidade quebrou com a sua boa disposição. Nada estranhou. Reviu os tarecos, o cheiro dos quartos e as velhas sombras, que traziam à memória a Títi Bita. Rezou, ajoelhado, o terço da noite junto ao grande altar da casa, recheado de santos hieráticos ou amáveis, ladeando um Cristo torturado. Frequentou a missa dominical na igreja da freguesia, acompanhou a tia nas compras e nas visitas escolhidas.
Timóteo Frontaria excedeu-se no desiderato mais importante do momento. Alagado em suor, falou ao advogado e pôs as cartas na mesa, demonstrando que o sobrinho não era pobretana nenhum, com as mãos a abanar. Aperreado de solenidade, rogou a Tovar que fosse o portador da incumbência e marcasse ela o dia histórico. Estava com pressa de casar Chico, não fosse ele escorregar, numa intempestiva cabeçada. Tovar, quebrando a distância e emocionado com o empenho do homem, abriu os braços fraternais.
- Venham daí os ossos.
- O meu sobrinho foi um perdulário... um cabeça-de-vento. Mas corrigiu-se.
- Foi obra de Victorina.
- Eu sei. Por isso mesmo que eu desejo ela mantenha os freios, antes que escouceie por aí, em renovadas loucuras.
- Oh, quanto a isso, ponho as mãos no fogo.
- Então, por que esperamos?
Tovar subiu, todo casamenteiro, ao Lilau naquela mesma tarde. Encontrou Victorina surpreendida e na expectativa. Quase adivinhava.
Expôs ao que vinha. Ela enleou-se como uma garota colegial, escondendo o rosto no lenço vaporoso de seda branca.
- Estou tão feliz... que não sei que responder.
Decidiu-se o dia e a hora. O Dr. Tovar ficaria ao lado dela para os receber. Na confusão da alegria, Victorina esquecera-se dos avós paternos. No entanto, que parente mais próximo tinha ela, espiritualmente, senão o advogado?
Uma certa tarde, duas cadeirinhas saíram de Santo António para S. Lourenço, atravessando a Rua do Campo e a Praia Grande, ao ritmo compassado dos condutores. Nelas iam, respectivamente instalados, o tio e o sobrinho Frontarias, imaculadamente de branco, os pescoços afogueados em altos colarinhos engomados de cerimónia, laço resplandecente e flor rubra na lapela. Chico respirava com dificuldade, desabituado de tais apertos. Ia emocionadíssimo, agarrando nervosamente um ramalhete de rosas, de cor de vinho, muito frescas e aveludadas. Nem se lembrara, uma vez que fosse, doutra caminhada semelhante, anos atrás, para uma trágica brincadeira.
Para a pasmaceira das janelas, ao longo das ruas da «cidade cristã» que percorriam, foi um rebuliço. Debruçavam-se as cabeças, chamavam-se as pessoas do interior das casas. Tio e sobrinho juntos já era uma surpresa. Agora, engalanados de branco fulgurante e mais o ramalhete de rosas, uma sensação. Sussurrava-se para onde iriam, de certeza. A coscuvilhice tinha o seu prato para o dia e para a noite inteiros.
Chico preferia o rickshaw para andar mais expedito. O tio replicara, num tom superior:
- O rickshaw é para os comerciantes que têm pressa. A cadeirinha é mais própria para as grandes ocasiões. Mal estacaram na casa do Lilau e a sineta soou, escancarou-se a porta, Celeste, radiante, a convidá-los a entrar, toda arrebicada no seu melhor vestido. Tovar apareceu, fazendo logo as honras, na qualidade de representante da família. Desculpava-se que a esposa não podia comparecer, retida por uma teimosa constipação.
Foram para a sala, que Chico conhecia tão bem, toda cheia de flores nas jarras de cristal. O Tio Timóteo teve um estalido de satisfação, ao avaliar as porcelanas, o mobiliário e os estofos. Tovar parecia mesmo um pai venturoso e completamente à vontade no seu papel. Chico revelava um intenso embaraço, levando as mãos ao laço ou limpando o suor da testa. Justificou, num cicio, para o tio:
- É a primeira vez...
- E será a última!
Uma noiva feliz possui sempre um halo radioso, não importa que idade, e Victorina não foi excepção nenhuma. Surgiu esbelta, sem óculos, favorecida por um vestido leve, bem talhado, um sonho cor-de-rosa. Chico gostou da sua elegância esguia, requebrada de feminilidade, o rosto discretamente maquilhado, os olhos a fluir de mocidade, houvesse ou não houvesse um olho estrábico. E sempre o negrume dos cabelos, que vincavam no conjunto a subtil voluptuosidade. Se não fosse a delicadeza do momento, Tovar assobiaria de aprovação.
Chico, com desajeitamento, ofereceu-lhe o ramalhete de rosas. Victorina exclamou, de genuíno prazer:
- Oh, que amável! São tão lindas...
- Escolhi uma a uma.
- Sempre tão simpático - disse, cheirando-as num trejeito gracioso.
Quem gostou de verdade foi o Tio Timóteo. Para ele, que pessoalmente a conhecia muito mal, Victorina Vidal fora sempre uma moça-velha, toda seca, que deslizava na rua, vestidos pesados, ar triste e zarolha, tão sem graça que ninguém a contemplava duas vezes. Aquela aparição foi uma novidade chocante. Transparecia a educação nos ademanes. E tivera o segredo de conduzir o sobrinho desvairado para o bom caminho, quando todos o julgavam irremediavelmente perdido. Podia usar, sem envergonhar, o apelido histórico dos Frontarias.
Sentaram-se, dominados pela tensão. Dos quatro, Victorina parecia a mais calma. A conversa generalizou-se, em trivialidades de circunstância, como se não atinassem com o assunto que os reunia ali. De vez em quando, Victorina e Chico entreolhavam-se, como que apelando para terminar com aquela dor e tormento.
Mas Timóteo embezerrava-se no meio de frases que não completava. Se não fosse a voz de Tovar, as pausas seriam maiores. Por fim, este também se impacientou. Piscou-lhe o olho quando Victorina se debruçou para o ramalhete. Timóteo engoliu em seco e, numa voz tremelicante, disse:
- Bem... Sr.a D. Victorina. Gostava de rosariar palavras mais escolhidas, em discurso a preceito, para exaltar a excelsa hospitalidade desta casa e as qualidades de V. Ex.a Incumbi-me duma missão que é do meu mais profundo agrado, mas falta-me o dom da oratória...
Ia prolongar-se numa peroração desnecessária, engasgando-se e perdendo-se nas hipérboles, quando Tovar, todo prático e mais terra-a-terra, interveio:
- Vamos, Timóteo... vamos ao ponto.
Emudeceu e não gostou da interrupção, que lhe cortava o fio do discurso, de antemão preparado. Victorina levara a mão ao peito, enquanto duas rosas se avermelhavam nas faces. Tovar passou a mão na cabeleira leonina, enquanto Chico seguia, fascinado, a subida e descida da maçã-de-adão do tio.
- Em nome do meu sobrinho, Francisco da Mota Frontaria, tenho a honra de suplicar a mão de V. Ex.a para esposa dele. Para nós, os Frontarias, seria um privilégio... uma dádiva de Deus, se V. Ex.a consentisse em aceitar.
Todas as atenções se concentraram nela. Brilharam lágrimas nos cílios molhados. Respondeu com simplicidade:
- É uma honra que me enternece. Terei imenso gosto em pertencer à família Frontaria. Sei que Francisco me fará feliz... e eu prometo que não se há-de arrepender de me ter feito sua esposa.
Chico precipitou-se para oscular a mão que se lhe estendia. Tovar beijou as faces da noiva e apertou o corpo forte de Chico. O Tio Timóteo imitou-o e outros beijos repenicaram. Depois, os dois mais velhos abraçaram-se. No meio da efusão, Victorina teve a noção duma singular coincidência. Sempre embirrara que no seu nome completo houvesse uma insistência de tantos «is». Mais um «i» de Frontaria se ia juntar a ele. Mas, desta vez, regozijava-se plenamente.
Como se obedecesse a uma ordem secreta, Celeste, num alarido de felicitações, entrou, bandeja de prata na mão, onde se equilibravam quatro cálices e uma garrafa de vinho do Porto velhíssimo, ainda com a poeira dos anos. Tovar encheu os cálices, muito loquaz, com palavras alusivas à ocasião, o clássico brinde de congratulações e prosperidades. Enquanto bebiam o néctar precioso, A-Kuong, na porta, meneava a cabeça, aprovando.
Passaram à sala de jantar, onde tomaram chá, junto da mesa recheada de salgados e doces, onde sobressaía o prato de «cabelos-de-noiva». Chico tacteou essa mesa inesquecível, olhando para Victorina. Fora nela, transformada em marquesa de hospital, que tudo começara.
Meia hora depois, Tovar, homem prático, adivinhando que eles queriam isolar-se e Timóteo não arredaria facilmente, puxou-o de lado.
- Vamos até o quintal. Victorina tem uma criação de pombos que é um assombro.
Lá saíram os dois. Victorina e Chico, mãos entrelaçadas, já não precisavam de dissimular os seus sentimentos perante as convenções. Ao encaminharem-se para a sala, ela perguntou-lhe:
- Como vão os dedinhos de pé?
- Estão lindos e de saúde. Eu trato-os com todo o cuidado. No quintal, Tovar e Timóteo pararam junto da cerca do pombal. Os arrulhos dum largo coro misturavam-se com o piar da passarada que se recolhia nas frondes da rua. O céu refulgia na policromia do crepúsculo. Trinou o riso de Victorina, acompanhando uma exclamação álacre de Chico.
- São duas crianças. Estão «naquele engano de alma ledo e cego»... - disse Timóteo, comovido.
- Sim e acho graça. Ela já é uma Inês algo sazonada.
- E ele tem muito pouco de Pedro da lenda...
- Mas entendem-se, é o que se quer. Quem iria imaginar.. - A vida é um espanto!
Muito se disse e se especulou com aquele casamento. As tias Padillas vituperaram, vaticinando um desastre. Aquela degenerada sobrinha enlouquecera. Ligar-se a um malandro crivado de vícios e doenças secretas! Quem é que podia gostar de Varapau-de-Osso? O que ele queria era abarbatar-se com o dinheiro de duas malfadadas heranças. O tempo diria... À falta de melhor, a demente escolhera aquele rufia porque, cheia de comichão, preferira arriscar-se, a ficar solteira toda a vida. Um despropósito!
Tirando o fel e o rancor, mais não traduziam que a opinião da maioria. Nunca foram tão falados e ridicularizados, ela esquelética e zarolha, mais alta que o futuro marido, ele a engordar, os cabelos a anunciar uma calvície prematura.
Os noivos, na sua ventura, não prestaram a mínima reflexão ao disse-que-disse. Uma surpresa partiu de Cristóvão Vidal, de maior importância. Exigiu que fosse ele a levar Victorina ao altar. Tinha sofrido que o pedido de casamento não fosse feito na sua presença. Superando o amuo, disse à mulher e à filha:
- Desculpo-a. Isto é o resultado de trinta anos de separação, que não se nivela dum dia para outro. Basta de orgulhos feridos! Por causa deles, perdi um filho e não o recuperei. Valeu a pena? A nossa existência podia ter sido outra, bem diferente, se tivéssemos sabido proceder com calma. Estou velho...
Nunca casei uma filha. Esta é a única neta que tenho perto de mim. Recuso-me a perder esta oportunidade.
Os noivos guardaram as convenções. Ele acompanhava-a do atelier até casa, sem ultrapassar a porta, despedindo-se à vista das janelas. Outras vezes, passeavam na Praia Grande ou no Jardim de S. Francisco ou, ainda, no de Vasco da Gama, para escutar a banda municipal nos seus concertos no coreto, sempre escoltados. Chico só entrava na casa do Lilau quando vinha com os tios. Era preciso que se acreditasse, Victorina ia virgem para o matrimónio. Só os dois sabiam dum deslumbrante segredo. Ela estava grávida.
Casaram-se em S. Lourenço, numa cerimónia que se desejou simples, mas se transformou em pompa. Os Frontarias e os Vidais tinham muitas relações. Os convidados foram seleccionados e houve muita gente ofendida por não ser incluída no convite, como acontece sempre.
Cristóvão Vidal, tão digno e aperreado como Timóteo, levou a neta para o altar, conseguindo o seu desiderato. Estava tão emocionado que parecia não ser o avô que abandonara essa neta por mais de trinta anos. Dr. Tovar e Dr. Torres, impecáveis na sua função de padrinhos dele e dela, respectivamente. Victorina, muito bem vestida, de imaculada brancura, com véu e bouquet de flor de laranjeira, caminhou, sem óculos, segura do seu triunfo. Fez inveja a muita mulher mais moça e solteira. Não porque estivesse excepcionalmente bonita - o seu defeito não o permitia -, mas por causa do halo da sua graça, que tudo iluminava.
- Está de apetite! - ciciou um convidado, torcendo o bigode.
- Aquele diabo do Chico sabe descobri-las. Há qualquer coisa naquele olho vesgo.
Ele confirmava esta asserção, impado de orgulho, quase estalando as costuras da camisa.
Entre os assistentes figuravam João Tomé Zacarias, a esposa e a linda filha Jerusa, mais Zé Trigo, amigos que Chico fizera questão de convidar.
Ao som do órgão e do coro afinado de vozes masculinas e femininas, Zé Trigo disse para o dono da pensão:
- Afinal é um talassa. Eu a julgar sempre o contrário. Mas simpático ... muito simpático.
Assim, Varapau-de-Osso e Chico-Pé-Fêde uniram-se quando tudo levava a crer que o casamento seria impossível para cada um deles. Gozaram a lua-de-mel em Hong-Kong e Chico foi morar para o Lilau. Tiveram três rebentos, dois rapazes e uma menina. Quem acreditaria, do ventre de Varapau-de-Osso! O Tio Timóteo viu a sua esperança realizada, de ser avô sem ter tido filhos. A família continuava... A Tia Camélia redobrou o óbolo a Santo António, o Santo milagreiro de todos os pedidos.
A avó Padilla, que não assistira ao casamento, reconciliou-se mais tarde com a neta. As tias, porém, continuaram renitentes e rancorosas até o fim, mãos de fada para os doces e salgados, mas línguas de víbora incorrigíveis, a tecer intrigas e enredos.
Victorina trouxe piedosamente os ossos de Hipólito de Xangai e as cinzas de Gonçalo Botelho do Japão. Em três boiões funerários, os pais mais o irmão foram dormir o sono eterno no jazigo dos Vidais. Cesaltina encontrou na morte o que nunca alcançara em vida. Aceitação e guarida junto da família do marido. As cinzas de Botelho ficaram ao lado da mulher amada.
Francisco da Mota Frontaria, durante muito tempo sob a observação dos mal-intencionados, que aguardavam o retorno à estroinice, desmentiu-os um a um. Marido exemplar, pai extremoso, a casa e o dinheiro sob o controle firme da mulher, nunca mais deu ocasião a censura. Experimentara muito, sofrera e bastara, comentava. Na magreza e no esguio de Victorina parecera concentrada toda a sua ternura. Fora o feitiço do olho vesgo, reafirmava Timóteo Frontaria, o indicador em riste. O Dr. Tovar, ao lado, concordava, sacudindo a melena leonina.
Que era feito da sua célebre garrafita de mel? Chico não retrucava, mas sorria misteriosamente. Sempre asseado e bem-posto, atingiu o aspecto dum bom burguês, bem instalado na vida, proficiente colaborador do Dr. Tovar, com Chencho a seu lado, para sempre amansado.
A existência do casal deslizou com os altos e baixos de todos os casais, sem problemas de maior, senão os quotidianos. A casa do Lilau e a chácara de Botelho, destinadas a albergar uma solteirona triste, marcaram pela hospitalidade, cheias de gritos e gorjeios da petizada, que ecoavam também nos casarões dos Frontarias e dos Vidais da Rua Formosa. Chico retomou o seu papel activo no Carnaval, sem as partidas ignóbeis. No dia 24 de Junho, o dia da cidade, tradicionalmente o «dia dos piqueniques e do arroz carregado e porco balechão-tamarindo», a chácara de Botelho engalanava-se para a festa ao ar livre, que passou a ser conhecida nos anais da vida social de Macau.
Pouco a pouco, amorteceu a curiosidade em volta do casal, perdendo-se as alcunhas de Varapau-de-Osso e Chico-Pé-Fêde da memória dos vindouros. E a farmácia de Pablo Padilla, com as suas tisanas e unguentos milagreiros? Não totalmente. Muito discretamente, Chico, sob a orientação e ensinamentos de Victorina, exerceu práticas de curandeiro a amigos muito aflitos, com resultados desvanecedores, sem nunca atingir a fama do seu avô-sogro, como dizia modestamente.
Henrique de Senna Fernandes
O melhor da literatura para todos os gostos e idades















