



Biblio VT




Os contos desta coletânea foram criados pelos maiores autores da literatura Russa – Nicolai Gogol, Mikhail Lermontov, Fiodor Dostoiévski, Leão Tolstoi, Nicolau Lieskov, Vladimir Korolenko, Anton Tchekhov, Máximo Gorki, Leonid Andreyev e Isaak Babel - para encantar e maravilhar o bom gosto literário da humanidade e dos leitores do “Biblio VT”.
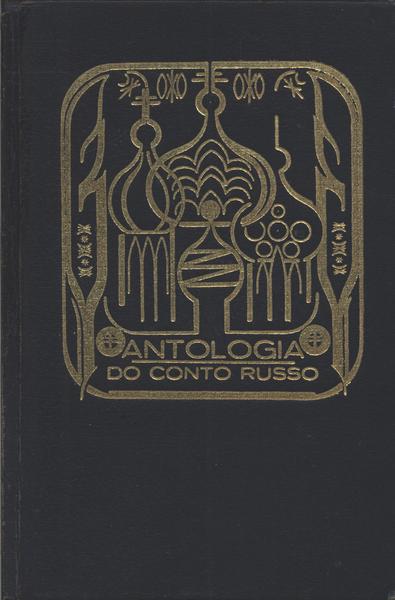
O fazedor de caixões
Os últimos trastes do fazedor de caixões Adrian Prokhorov foram aglomerados no coche fúnebre, e a macilenta parelha arrastou-se pela quarta vez da Basmánaia para a Nikítskaia, para onde ele se mudava com tudo o que era seu. Cerrada a loja, pregou no portão um anúncio a informar que a casa estava à venda ou para alugar, e dirigiu-se para o novo domicílio a pé. Ao aproximar-se da casinha amarela, que há tanto tempo lhe dominava os pensamentos e fora adquirida finalmente por uma soma considerável, o velho percebeu surpreendido que o seu coração não se alegrava. Ao transpor o umbral desconhecido e ao encontrar confusão em sua nova morada, suspirou pela velha lojinha, onde durante dezoito anos tudo decorrera na mais simples harmonia. Começou a praguejar contra as duas filhas e a empregada, por causa da sua lentidão, e pôs-se a ajudá-las. A ordem foi restabelecida em pouco tempo; o oratório com os ícones, o armário de louça, a mesa, o divã e a cama ocuparam os lugares designados por ele no quarto dos fundos; na cozinha e na sala de visitas, dispuseram-se as obras do dono da casa: caixões de todas as cores e tamanhos, bem como armários com chapéus de luto, capotes negros e archotes. Por cima do portão, pregou-se uma tabuleta com um Cupido corpulento, tendo na mão um facho virado, com a inscrição: “Aqui vende-se e forram caixões simples e pintados, e também se aluga ou conserta esquifes usados”.
As moças foram para o seu quarto. Adrian percorreu a habitação, sentou-se à janela pequena e mandou preparar o samovar.
O leitor culto sabe que tanto Shakespeare como Walter Scott representaram os seus coveiros como homens animados e brincalhões, a fim de impressionar mais fortemente com o contraste a nossa imaginação. Por respeito à verdade, não podemos seguir o seu exemplo e somos obrigados a confessar que o génio do nosso fazedor de caixões condizia de modo absoluto com o seu lúgubre ofício. Adrian Prokhorov era habitualmente sombrio e calado. Quebrava o mutismo quase exclusivamente para vociferar com as filhas, quando as encontrava inactivas, espiando os transeuntes da janela, ou para pedir pelas suas obras um preço exagerado àqueles que tinham a infelicidade (e às vezes, o prazer) de precisar delas.
Pois bem, sentado à janela e tomando a sétima xícara de chá, Adrian estava imerso como de costume em amarguradas divagações. Pensava na chuva torrencial que, uma semana atrás, caíra no momento em que chegava ao cemitério o funeral de um brigadeiro reformado. Muitos capotes negros encolheram, muitos chapéus se estragaram. Previa despesas inevitáveis, pois as suas já antiquadas reservas de trajes fúnebres eram miseravelmente reduzidas. Esperava cobrir o prejuízo com a velha comerciante Triúkhina, que estava às portas da morte ia quase para um ano. Porém, ela vivia no bairro de Razguliai, e Prokhorov temia que os herdeiros, apesar da promessa feita, tivessem preguiça de mandá-lo chamar tão longe, e acabassem por combinar tudo com a empresa mais próxima.
Essas reflexões foram interrompidas involuntariamente por três pancadas franco-maçónicas na porta.
—Quem é? —perguntou Adrian. Abriu-se a porta, e um homem, em quem, à primeira vista, se poderia reconhecer um artífice alemão, entrou no quarto e aproximou-se, com ar alegre, do dono da casa.
—Desculpe-me, amável vizinho, —disse ele, nesse dialecto russo que nós até hoje não podemos ouvir sem rir —desculpe se o incomodo... eu queria estabelecer relações com o senhor, o quanto antes. Sou sapateiro, meu nome é Gottlieb Schulz, e moro do outro lado da rua, naquela casinha em frente das suas janelas. Festejo amanhã as minhas bodas de prata, e convido-o, a si e às suas filhas para jantar em minha casa como amigos.
O convite foi aceite com afabilidade. Adrian desafiou o sapateiro a sentar-se e tomar uma xícara de chá, e, graças ao génio franco de Gottlieb Schulz, não demoraram a sustentar uma cordial conversa.
—Como vão os negócios de Vossa Mercê? —perguntou Adrian.
—Eh-he-he, —respondeu Schulz —assim e assim. Não me posso queixar. Mas, naturalmente, a minha mercadoria não é como a sua: um vivo pode passar sem se calçar, mas um morto não vive sem caixão.
—É a genuína verdade, —observou Adrian —mas se um vivo não tem com que comprar um par de botas, então (não te zangues) ele anda descalço, mas um mendigo defunto leva o seu caixão de graça.
Desse modo, a palestra deles prosseguiu mais algum tempo. Finalmente, o sapateiro levantou-se e despediu-se de Adrian, reiterando o convite.
No dia seguinte, ao meio-dia em ponto, Adrian e as filhas saíram do portão da casa recém-comprada e dirigiram-se à residência do vizinho. Afastando-me da norma aceite pelos romancistas actuais, não descreverei o cafetã russo de Adrian Prokhorov, nem os trajes europeus de Akúlina e Dária. Suponho, entretanto, que não será supérfluo observar que ambas as moças puseram chapeuzinhos amarelos e sapatos vermelhos, o que lhes sucedia somente nas ocasiões solenes.
A casinha acanhada do sapateiro estava repleta de convidados, na maioria artífices alemães, com suas esposas e aprendizes. Quanto a funcionários russos, estava lá um vigia, o finlandês Iurko, que soubera merecer, apesar da sua modesta condição, uma benevolência especial do dono da casa. Durante uns vinte e cinco anos, prestara com fidelidade serviços nesse posto, a exemplo do carteiro de Pogoriélski (1). O incêndio de 1812, ao destruir a capital do Império, aniquilara também a sua guarita amarela. Mas imediatamente após a expulsão do inimigo, no seu lugar apareceu uma guarita nova, cinzenta, de colunas brancas, da ordem dórica, e Iurko passou novamente a caminhar junto a ela, de couraça e cacete de armas. Era conhecido da maioria dos alemães que habitavam próximo ao arco de Nikita: a alguns deles acontecera até pernoitar na guarita de Iurko de domingo para segunda-feira. De inediato, Adrian travou relações com ele, pois era um homem de quem cedo ou tarde se podia vir a precisar. E, quando os convivas se dirigiram para a mesa, eles sentaram-se lado a lado. O senhor e a senhora Schulz e a filha deles, Lotchen, de dezessete anos, jantavam com os convidados e, simultaneamente, ajudavam a cozinheira a servir a mesa. A cerveja corria aos borbotões. Iurko comia por quatro e Adrian não lhe ficava atrás. As filhas queriam manter a linha. A conversa em alemão tornava-se hora a hora mais ruidosa. De repente, o dono da casa exigiu a atenção e, após desarrolhar uma garrafa coberta de espuma, proferiu em voz alta, em russo:
—À saúde de minha boa Luísa!
O vinho transbordou. O dono da casa beijou ternamente o rosto fresco da sua quarentona companheira, e os convivas beberam ruidosamente à saúde da bondosa Luísa.
—À saúde dos meus queridos convidados! —proclamou o dono da casa, abrindo a segunda garrafa, e os convidados agradeceram, esvaziando novamente as taças. Então, os brindes sucederam-se. Bebeu-se à saúde de cada convidado em particular, de Moscovo e de uma dúzia inteira de cidadezinhas germânicas, das corporações em geral e de cada uma particular, e à saúde de artesãos e aprendizes. Adrian bebia com afinco e pôs-se tão alegre que sugeriu um brinde brincalhão. De repente, um dos convivas, um padeiro gordo, ergueu a taça e exclamou:
—À saúde daqueles para quem trabalhamos, unserer Kundleute!
A proposta, como todas as demais, foi aceite entusiasticamente e por unanimidade. Os convivas começaram a saudar-se, o alfaiate inclinou-se para o sapateiro, o sapateiro para o alfaiate; o padeiro para ambos, todos os três para o padeiro, e assim por diante. No meio dessas mútuas saudações, Iurko gritou, dirigindo-se ao seu vizinho:
—E então? Bebe, paizinho, à saúde dos teus defuntos.
Os presentes desfizeram-se em gargalhadas, mas Adrian considerou-se ofendido e adquiriu uma expressão sombria. Ninguém se apercebeu, todos continuaram a beber e levantaram-se da mesa quando já tocavam as vésperas.
Os convivas separaram-se tarde, na sua maioria, já um pouco alegres. O gordo padeiro e o encadernador, cujo rosto parecia encadernado com marroquim vermelho, levaram Iurko, amparado pelas axilas, para a sua guarita, seguindo desse modo o provérbio russo “A dívida embeleza-se com o pagamento”.
O fazedor de caixões chegou em casa bêbado e zangado.
—E na verdade, —argumentava ele alto —em que é que o meu ofício não é tão honesto como os demais? Será que o fazedor de caixões é irmão do carrasco? Por que é que riem dele aqueles infiéis? Um fazedor de caixões será algum saltimbanco? Eu gostaria de chamá-los para comemorar a mudança e oferecer-lhes uma festa de verdade. Agora não pode ser! Mas vou chamar aqueles para quem trabalho, os defuntos ortodoxos”.
—O que é isso, paizinho? —perguntou a criada, que lhe estava tirando os sapatos. —Que absurdos são esses? Persigna-te! Convidar defuntos para a festa da mudança! Cruz-credo!” —Juro por Deus que os chamarei —prosseguiu Adrian —e amanhã mesmo. Peço-lhes, meus benfeitores, que venham amanhã à noite para uma festa em minha casa: vou servir-lhes o que Deus me deu.
Dito isso, o empresário fúnebre foi para a cama e pouco depois roncava.
Ainda estava escuro quando acordaram Adrian. A negociante Triúkhina falecera naquela mesma noite, e um empregado enviado pelo seu administrador viera a galope trazer a notícia a Adrian. O fazedor de caixões deu-lhe dez copeques para a vodca, vestiu-se, apressadamente, alugou um coche e fez-se conduzir para o bairro de Razguliai. Havia polícias junto ao portão da casa da defunta, e alguns comerciantes caminhavam pela calçada como corvos que sentem carniça. A defunta estava sobre a mesa, amarela como cera, mas ainda não deformada pela decomposição. Junto a ela, aglomeravam-se parentes, vizinhos e criados. Todas as janelas estavam abertas; ardiam velas; sacerdotes proferiam orações. Adrian acercou-se do sobrinho de Triúkhina, um jovem comerciante de sobrecasaca da última moda, e disse-lhe que o caixão, as velas, a mortalha e os demais objetos funerários seriam imediatamente entregues em perfeito estado. O herdeiro agradeceu-lhe distraído, afirmando que não regatearia e que confiava na consciência de Adrian. O fazedor de caixões jurou por Deus, como era seu costume, que não cobraria mais que o devido; em seguida, trocou um olhar significativo com o administrador e foi providenciar o necessário. Passou o dia todo a ir e a vir entre o arco de Nikita e Razguliai; à noitinha, estava tudo resolvido, e foi para casa a pé, depois de dispensar o cocheiro. Estava um sublime luar. Adrian chegou sem incidentes ao arco de Nikita. Perto da igreja da Assunção, interpelou-o o nosso conhecido Iurko e, reconhecendo o fazedor de caixões, desejou-lhe boa noite. Era tarde. Já estava perto de casa, quando lhe pareceu de repente que alguém se aproximara do seu portão, abrindo-o e escondendo-se atrás dele.
“O que significa isto? —pensou Adrian. —Quem é que precisa de mim novamente? Não será um ladrão? Ou as minhas tontas cachopas andam a receber amantes? Em todo caso, coisa boa não é!”
E Adrian já pensava chamar em seu auxílio o amigo Iurko. Naquele instante, alguém mais aproximou-se do portão e preparava-se para entrar, mas, ao avistar o dono da casa, que corria, parou, tirando o tricórnio. Adrian teve a impressão de conhecer aquele rosto, mas com a pressa não pôde examiná-lo bem.
—Já que o senhor se dignou visitar-me, —disse Adrian ofegante —pois faça o favor de entrar.
—Nada de cerimónia, paizinho, —replicou o outro, com voz abafada —vá na frente e mostre o caminho aos convidados!
Adrian nem teve tempo de fazer cerimónia. O portão estava aberto, e ele encaminhou-se para a escada, seguido pelo outro. Pareceu-lhe que havia gente a caminhar nos quartos.
“Com mil diabos!” —pensou, apressando-se a entrar...
mas, nesse momento, as suas pernas dobraram-se. O quarto estava repleto de defuntos. A lua iluminava pelas janelas os seus rostos amarelos e azuis, as bocas encovadas, os olhos turvos, cerrados e os narizes pendidos... Adrian reconheceu neles horrorizado as pessoas enterradas graças aos seus cuidados, e no hóspede que entrara com ele, um brigadeiro sepultado durante uma chuva torrencial. Todos eles, damas e cavalheiros, rodearam o fazedor de caixões em saudações e mesuras, com excepção de um pobretão, enterrado recentemente de graça, e que, envergonhado dos seus farrapos, não se aproximava, permanecendo humildemente num canto. Os demais trajavam, decentemente: as defuntas com toucas e fitas, os mortos funcionários de uniforme, mas de barba por fazer, os comerciantes de cafetã de dia feriado.
—Sabes, Prokhorov? —disse o brigadeiro, em nome de toda a honesta confraria. —Levantamo-nos todos para atender ao teu convite: ficaram em casa apenas aqueles que já não podem andar, os que estão completamente derruídos, e aqueles que só têm ossos sem pele, mas até entre esses houve um que não se conteve, tamanha era a vontade de vir à tua casa...
Naquele instante, um pequeno esqueleto esgueirou-se através da multidão e aproximou-se de Adrian. A sua caveira sorria afavelmente. Frangalhos de casemira verde-clara e vermelha e de um brim vetusto pendiam dele aqui e ali, como num espeto, e os ossos das suas pernas debatiam-se dentro de grandes polainas, como um pilão num almofariz.
—Não me reconheceste, Prokhorov? —perguntou o esqueleto. —Estás lembrado do sargento da guarda reformado, Piotr Pietróvitch Kurílkin, aquele mesmo a quem vendeste, em 1799, o teu primeiro caixão, e forneceste pinho em lugar de carvalho?
Dito isso, o defunto alongou na sua direção os ossos, para um abraço. Mas, reunindo todas as forças, Adrian soltou um grito e repeliu-o. Piotr Pietróvitch cambaleou, caiu e desfez-se em pó. Um murmúrio de indignação levantou-se entre os defuntos; todos se empenharam em defender a honra do companheiro, assediaram Adrian com censuras e ameaças, e o pobre dono da casa, ensurdecido pelos seus gritos, quase esmagado, perdeu a presença de espírito, caiu sobre os ossos do sargento da guarda reformado e desmaiou.
Há muito que o sol iluminava a cama em que estava deitado o fazedor de caixões. Finalmente, abriu os olhos e viu diante de si a criada que soprava no samovar. Adrian recordou horrorizado todos os acontecimentos da véspera. Triúkhina, o brigadeiro e o sargento Kurílkin apresentaram-se confusamente à sua imaginação. Esperou em silêncio que a criada puxasse conversa e lhe falasse sobre as consequências daquelas aventuras nocturnas.
—Como dormiste, paizinho Adrian Prokhórovitch —indagou Aksínia, passando-lhe o roupão. —O vizinho alfaiate veio visitar-te, e o guarda passou para dizer que hoje faz anos, mas tu estavas a dormir e não quisemos acordar-te.
—E veio alguém da casa da falecida Triúkhina?
—Falecida? Mas ela morreu?
—Que parlapatona! Não foste tu que me avisaste ontem para providenciar o enterro dela?
—Que é isso, paizinho? Perdeste o juízo, ou ainda não te passou a bebedeira de ontem? Que enterro houve ontem? Passaste o dia todo na festança do alemão, voltaste bêbado, caíste na cama e dormiste até agora, quando já tocaram para a missa.
—Será possível?! —questionou com alegria o fazedor de caixões.
—É isso mesmo —respondeu a criada.
—Se é assim, serve depressa o chá e vai chamar as filhas.
- Alusão a um personagem de "O Sósia", de A. Pogoriélski (1825).
Nicolai Gogol
UM CASAL À MODA ANTIGA
Aprecio grandemente a vida modesta que nos seus domínios recolhidos fazem os fidalgos "à moda antiga", como vulgarmente se lhes chama na Pequena Rússia. Essa gente recorda-me velhas e pitorescas casas, cuja simplicidade nos atrai pelo contraste que faz com os edifícios novos, espaventosos, a que a chuva ainda não manchou as paredes, nem o bolor atacou os tectos, nem o reboco fresco traiu a cor dos tijolos.
Por vezes, gosto de me abandonar a esta vida plácida, refugiar-me nesta solidão inefável: ali, nenhum desejo ultrapassa os limites do pequeno pátio, o valado que contorna o pomar de macieiras, ou os casebres da aldeia pendurados nos flancos das colinas e perdidos entre salgueiros, sabugueiros e pereiras. A vida desta gente modesta escoa-se tão lentamente, tão pacificamente, que em certos instantes do esquecimento duvidamos da existência de paixões, de desejos, de agitações vãs, engendradas pelo espírito do Mal para perturbar a humanidade - nesses momentos tudo isto nos parece apenas o reflexo dum sonho, duma fantasmagoria resplandecente.
Tenho diante dos olhos aquela casa pequena e baixa cingida em toda a volta por uma "galeria" de colunas delicadas de madeira escura, que a protege das tempestades; nas traseiras, as cerejeiras perfumadas, as longas fileiras de árvores frutíferas anãs, submersas no mar de púrpura das cerejas e de ametista das ameixas de tom escuro, o bordo frondoso à sombra do qual jaz um tapete de repouso; do lado da frente, o pátio espaçoso, a erva rasa e verdejante, o corredor que conduz da despensa à cozinha e da cozinha aos aposentos dos donos da casa, a pata de pescoço comprido banhando-se num charco em companhia da sua ninhada de patitos frágeis e sedosos; a vedação donde pendem fieiras de fruta seca e arejam roupas; perto do celeiro, um boi espojando-se junto de um carro repleto de melões. Este quadro tem para mim um encanto inexprimível porque certamente o não volto a ver e porque todas as coisas de que estamos separados tem um lugar especial no nosso coração.
Não sei porquê, mas logo que a minha britchka se aproximava desta casa invadia-me imediatamente uma sensação deliciosa de quietude, os cavalos detinham-se joviais diante da entrada, o cocheiro descia lentamente do seu lugar e punha-se a encher o cachimbo como se tivesse chegado diante da sua própria casa. E até mesmo o ladrar dos rafeiros, dos cães de caça e de guarda soava-me agradavelmente ao ouvido.
Mas o que mais me fascinava nestes modestos recantos eram os donos das casas, gente velha e bondosa que se apressava a vir ao meu encontro, e que ainda hoje, de vez em quando, o meu espírito faz reviver entre os trajes modernos no meio do tumulto e do luxo do mundo. Entrego-me nesses momentos à sedução dos sonhos, à miragem do passado. Lê-se nos seus rostos tanta bondade e tanta franqueza que de bom grado se renuncia, pelo menos durante um certo tempo, a toda a ambição, e imperceptivelmente damo-nos completamente a esta vida bucólica, humilde.
Há dois velhos do século passado que nunca consigo esquecer. Nenhum já vive; e contudo invade-me e oprime-me um bizarro sentimento de piedade e de tristeza quando penso que um dia, por qualquer capricho do acaso, poderei encontrar-me perante a sua casa abandonada onde talvez vá descobrir um pântano no lugar do tanque e um montão de escombros cobertos de silvas no lugar da casa... e nada mais. É verdade, basta-me pensar nesta possibilidade para sentir-me infeliz, horrivelmente amargurado. Comecemos, porém, a nossa narrativa.
Os dois velhos chamavam-se Atanásio Ivanovitch e Pulquéria Ivanovna Tovstogoub. Se eu fosse pintor e quisesse representar Filemon e Baucis não escolheria outros modelos. Atanásio Ivanovitch poderia ter os seus sessenta anos e Pulquéria Ivanovna os seus cinquenta e cinco. De estatura elevada e sempre coberto com uma pele de carneiro, como qualquer vendedor ambulante, Atanásio Ivanovitch gostava de estar sentado curvado e tinha um sorriso quase permanente nos lábios, quer quando contava uma história, quer quando se limitava a escutá-la. Pulquéria Ivanovna era pouco risonha, mas os seus olhos e toda a sua figura irradiavam tanta bondade e adivinhava-se-lhe um desejo tão intenso de nos oferecer tudo o que tinha de melhor, que estou certo que um sorriso poria uma nota de insipidez naquela bela fisionomia. As rugas superficiais do seu rosto estavam dispostas com tal graciosidade que um pintor facilmente saberia tirar proveito delas. Eram nela o reflexo daquela vida calma e serena que faziam as pessoas de velha cepa, simples no meio da sua riqueza, e que estiveram sempre em perfeito contraste com aqueles pequenos russos de baixa origem, que se lançam como um bando de abutres sobre os empregos públicos, que se dedicam zelosamente a extorquir até o último centavo dos seus compatriotas, que inundam Sampetersburgo de mercadoria, que acabam por aferrolhar enorme fortuna e, em sinal de triunfo, acrescentam o v russo ao o final do nome. Não, os meus dois bons amigos não se assemelhavam em nada a esses odiosos e desprezíveis pretensiosos, aliás como a eles também se não assemelha nenhum membro das nossas famílias verdadeiramente antigas.
Não se podia assistir impassível às provas recíprocas de afecto que dedicavam um ao outro. Nunca se tratavam por tu; diziam sempre "o senhor" ou "a senhora": "Senhor Atanásio Ivanovitch. Senhora Pulquéria Ivanovna.
—Foi o senhor que partiu o tampo a esta cadeira, Atanásio Ivanovitch?
—Não tem importância, Pulquéria Ivanovna, não se apoquente. Sim, fui eu.
Como nunca tiveram filhos, concentraram toda a sua ternura um no outro.
Noutros tempos, quando jovem, Atanásio Ivanovitch prestara serviço na cavalaria ligeira, tendo mesmo chegado a ser major. Mas tudo isso ia já muito longe, tão longe que ele já raras vezes fazia alusão a esse tempo. Casara-se com a idade de trinta anos, um belo rapaz sempre ricamente vestido; teve de usar de bastante prudência e tacto para desposar Pulquéria Ivanovna porque os pais dela o não queriam para genro. Mas também de tudo isto já não havia vestígios na sua memória, ou pelo menos não o recordava por palavras.
Estas aventuras de outrora tinham cedido lugar a uma vida calma e retirada, a esses devaneios confusos, mas nunca desprovidos de harmonia, que nos assaltam quando na varanda do jardim escutamos o sussurro sumptuoso da chuva a cair em bátegas espessas sobre as árvores ou escoando-se em pequenos regatos cantantes, que nos comunica uma profunda sensação de sonolência, enquanto o arco-íris se insinua por entre a folhagem para ir os tentar sobre o fundo do céu a frágil abóbada das suas sete cores. Ou então, quando, em plena estepe, nos deixamos embalar pelo movimento da caleche, mergulhando num mar de verdura, pelo cantar da codorniz, pelas carícias suaves da vegetação desvairada, das espigas e das flores campestres nas faces e nas mãos.
Atanásio Ivanovitch recebia sempre com um sorriso gracioso e uma atenção pronta as pessoas que o vinham visitar; quando falava, era quase sempre para fazer uma pergunta. Não era um desses velhos obcecados pela ideia de vangloriar o passado e de criticar o presente. Muito pelo contrário, as perguntas que fazia denunciavam um grande interesse pelas circunstâncias de vida dos outros, os seus sucessos e reveses. Era uma curiosidade em tudo igual à de uma criança que enquanto fala connosco se absorve na contemplação dos berloques que pendem da corrente do nosso relógio. Nesses momentos, o seu rosto "respira" verdadeira bondade.
Segundo o hábito antigo, os nossos dois velhos habitavam numa casa com divisões pequenas e baixas, com um enorme fogão que ocupava um terço da área. Abafava-se nesses quartos exíguos porque Atanásio Ivanovitch e Pulquéria Ivanovna adoravam o calor. Todas as aberturas do fogão davam para uma antecâmara atafulhada de palha até ao tecto. Na Pequena Rússia a lenha de aquecimento é substituída por palha que com o seu fogo cintilante e claro empresta às antecâmaras um ambiente agradável durante os longos serões de inverno, especialmente para os rapazes que se apressam a aquecer-se ao seu calor quando regressam a casa transidos de frio por terem andado em perseguição de qualquer jovem.
Alguns quadros e estampas metidos em velhos caixilhos estreitos decoravam as paredes da sala de visitas. Tenho a certeza de que os donos da casa já há muito se tinham esquecido do que representavam esses quadros; e se lhes tirassem alguns nem dariam pela sua desaparição. Entre outros, havia dois grandes retratos a óleo, um que representava um prelado e outro o Imperador Pedro II; num caixilho diminuto uma duquesa de La Valiére, toda salpicada pelas moscas, olhava-nos com os olhos fixos. Uma multidão de pequenas gravuras que nos habituamos insensivelmente a considerar como manchas das paredes e a que por isso já não prestamos atenção decorava o contorno das janelas e das portas. O sobrado de quase todos os quadros era simples terra batida mas estava sempre brilhante e a sua limpeza teria feito inveja a qualquer sobrado de luxo varrido pela mão indolente dum indivíduo de libré ainda ensonado.
Um número incontestável de cofres e cofrezinhos, de caixas e caixotes atravancavam o quarto de Pulquéria Ivanovna. Das paredes pendiam numerosos sacos e saquinhos contendo variadíssimas sementes - sementes de flores, sementes de legumes, sementes de melancia, etc. Nos recantos das caixas e nos intervalos entre os cofres amontoavam-se em desalinho novelos de lã de todas as cores, retalhos de fazendas diversas, roupa usada com mais de meio século. A boa senhora era uma perfeita dona de casa e guardava tudo sem muitas vezes saber a razão.
O mais notável, porém, de toda a casa era o cantar das portas. Desde manhã cedo a sua canção enchia toda a casa. Não sei dizer porque elas cantavam: seriam os gonzos que estariam ferrugentos? Teria quem as fez escondido nelas algum mecanismo secreto? A verdade é que cada porta tinha o seu cantar próprio: a porta do quarto de dormir tinha uma voz aguda de tenor, a da sala de jantar a voz roufenha dum baixo, a da antecâmara produzia um som estranho, frágil, queixoso, que escutado com atenção se acabava por distinguir claramente: "pobre de mim, estou gelada". Sim, bem sei que muita gente detesta os ruídos das portas. Quanto a mim confesso que os adoro. O gemido duma porta dá-me logo a sensação de estar no campo: revejo a salinha baixa iluminada por uma candeia fixa a um candelabro antigo, a ceia na mesa, a noite sombria de Maio que nos espia pela janela aberta para o jardim; oiço o trinado do rouxinol pairando sobre o parque, sobre a casa e alargando-se até à ribeira distante; distingo o murmúrio angustioso das ramagens... Oh! Meu Deus, meu Deus, que corrente interminável de recordações me assalta o espírito!
Na sala maior havia várias cadeiras de madeira maciça, como se faziam antigamente, de costas altas trabalhadas em toda a volta, sem cor nem verniz; nem sequer eram acolchoadas e sugeriam vagamente as cadeiras de que ainda hoje se servem os prelados. Ainda na mesma sala, viam-se algumas mesinhas redondas, uma mesa quadrada diante do canapé, outra diante do espelho enquadrado por uma fina folhagem dourada que as moscas haviam salpicado de pontos negros, e ainda diante do canapé um tapete em cujo desenho se distinguiam pássaros que pareciam flores e flores que pareciam pássaros. Era este, mais ou menos, o aspecto modesto da habitação dos meus bons velhotes.
No quarto das criadas ouvia-se o zumbido dum verdadeiro enxame de raparigas e velhas, todas com saias às riscas. Pulquéria Ivanovna dava-lhes coisas sem importância para coser ou frutos para escolher. O mais vulgar, porém, era elas escapulirem-se para a cozinha onde podiam dormir à vontade. Pulquéria Ivanovna considerava seu dever mantê-las em sua casa e velar pela sua conduta moral. Porém, para grande surpresa sua, era raro passar-se um mês sem que o volume de alguma destas raparigas não aumentasse mais do que é normal. Este fenómeno parecia tanto mais estranho quanto é certo que na casa não havia nenhum celibatário além dum rapazola, que andava sempre descalço e metido num ridículo casaco cinzento e que passava o tempo ou a dormir ou a comer. Em semelhantes ocasiões, Pulquéria repreendia a culposa e exigia-lhe que o facto se não voltasse a repetir.
Uma avalanche de moscas debatia-se incessantemente contra os vidros das janelas, num zumbido constante acompanhado muitas vezes pelo assobiar estridente das vespas; quando se aproximava delas uma luz, estas hordas de insectos refugiavam-se na escuridão do tecto, que ficava encoberto com uma nuvem espessa e escura.
Pouco interessavam a Atanásio Ivanovitch os trabalhos do campo; apesar disso, de quando em vez ainda se dignava ir até junto dos ceifeiros e observava os trabalhos com um ar grave e atento. Todo o fardo das actividades domésticas e agrícolas recaía sobre os ombros de Pulquéria Ivanovna: abrir e fechar constantemente o celeiro, cozer, salgar e secar frutos, folhas e legumes em quantidades avantajadas. Aquela casa assemelhava-se sob todos os pontos de vista a um laboratório de química: sob uma macieira do jardim, ardia ininterruptamente uma fogueira sobre a qual uma tripeça de ferro suportava quase sempre um caldeirão ou uma panela de cobre com doces, geleias, compotas de mel, açúcar e não sei que mais. Debaixo doutra árvore, o cocheiro destilava aguardente de cereja, de pêssego e de ginja; ao cabo desta operação, entaramelava-se-lhe a língua e apenas gaguejava meia dúzia de palavras de que Pulquéria Ivanovna não conseguia perceber patavina e ia então dormir uma soneca na cozinha. Este homem preparava uma tal profusão destas drogas que chegariam para inundar o pátio - a boa senhora, de facto sempre previdente, gostava de não se limitar ao estritamente necessário para os seus gastos e punha sempre de lado preciosa reserva. Uma boa metade destas bebidas, porém, era devorada pelas criadas: metiam-se na despensa e encharcavam-se em bebidas de tal forma que durante um dia inteiro andavam a gemer e a queixar-se de dores de estômago.
Pulquéria Ivanovna, sobrecarregada de tantos afazeres, não podia vigiar atentamente os trabalhos dos campos, e por isso o caseiro e o feitor surripiavam o que podiam sem sombra de escrúpulo. Estes dois dignos cavalheiros tinham-se habituado a considerar como propriedade sua as matas dos seus senhores: mandavam fabricar trenós que vendiam nas feiras dos arredores; derrubavam e vendiam os carvalhos com que os cossacos das vizinhanças construíam os moinhos. Apenas uma única vez Pulquéria Ivanovna exprimiu o desejo de inspeccionar as matas que lhe pertenciam. Prepararam-lhe o drojki que tinha um enorme avental de couro para a proteger contra a chuva e a lama. Mal o cocheiro pegava nas rédeas e punha em marcha os cavalos - duas pilecas que tinham tomado parte na última campanha ao serviço da milícia - esta carroça enchia o ar de ruídos esquisitos, entre os quais em breve se distinguia o som da flauta e do tambor. Molas e eixos gemiam tão ruidosamente que no moinho, a umas duas boas verstas de distância, se sabia perfeitamente quando a boa senhora partia de viagem. Pulquéria Ivanovna tinha forçosamente de reparar no desbaste que a mata tinha sofrido e no desaparecimento dos carvalhos que já na sua infância ela tinha conhecido como seculares.
- Como se explica isto, Nitchipor? - perguntou ela ao caseiro que a acompanhava. - Porque é que os carvalhos estão tão escassos? Toma cuidado não vá acontecer o mesmo aos teus cabelos...
- Escassos? - ia repetindo o homenzinho. - É que desapareceram; não há dúvida, minha senhora, desapareceram: caíram-lhes faíscas mesmo em cima, e os vermes roeram-nos... Enfim, que quer a senhora, desapareceram, não há dúvida, desapareceram.
Esta resposta satisfez plenamente a Pulquéria Ivanovna: chegada a casa, deu ordem para redobrar a vigilância do pomar, especialmente das cerejeiras e das pêras de inverno.
Estes dois dignos e honestos administradores acabaram por chegar à conclusão de que não havia vantagem em armazenar no celeiro toda a farinha produzida, visto que os patrões se contentariam perfeitamente com metade da produção; e com o tempo, decidiram até que essa metade deveria sair da farinha com bolor e bafio que lhes era recusada na feira. Assim, pois, os nossos dois espertalhões rapinavam desaforadamente. Aliás, com o que pilhava, toda a criadagem praticava a gula com liberdade, desde a governanta à última das servas, incluindo mesmo os suínos, que devoravam à tripa forra montes de ameixas e de maçãs e que por vezes se entretinham a dar focinhadas contra as árvores para fazer cair uma chuva de frutos; a pardalada e os corvos banqueteavam-se ao desafio, as criadas ofereciam numerosos presentes aos seus amigos das aldeias vizinhas e chegavam mesmo a furtar peças de pano e de filaça cujo último destino era o de todas as coisas: a taberna; cocheiros e lacaios subtraíam tanto ou mais do que os outros. E apesar de tudo isto, esta terra de eleição mostrava-se tão fértil e os seus felizes donos tão moderados nas suas necessidades, que todas estas depredações passavam despercebidas.
Exactamente como todas as pessoas doutros tempos, os nossos dois velhinhos eram um tanto exagerados com a alimentação. Mal começava a despontar a aurora - sim, porque eles eram bastante matinais -, mal as portas começavam a fazer-se ouvir no seu concerto discordante, abancavam os dois e tomavam o café. Atanásio Ivanovitch dirigia-se em seguida para a antecâmara, parava à porta e gritava, brandindo o lenço:
- Scht! Scht! fora daí, seus patos, fora!
No pátio, encontrava quase sempre o caseiro, com quem se entretinha a conversar: interrogava-o tão detalhadamente sobre os trabalhos dos campos, fazia-lhe certas observações e dava-lhe ordens tão acertadas, que quem o escutasse ficaria surpreendido com o seu invulgar talento administrativo e se recusaria a acreditar que fosse possível ludibriar um patrão tão arguto e clarividente. Mas o caseiro, raposa velha e matreira, sabia como iludir as respostas e, melhor ainda, sabia como proceder.
Depois deste diálogo, Atanásio Ivanovitch regressava à casa e, aproximando-se de sua mulher, dizia:
- Que lhe parece, Pulquéria Ivanovna, não seriam horas de comer qualquer coisa?
- Mas o quê, a estas horas, Atanásio Ivanovitch? Só se for um bolo de toucinho, ou um pastelinho com semente dormideira; ou então, ou então cogumelos de conserva?
- Traga lá os cogumelos e os pastelinhos - respondia Atanásio Ivanovitch. E, num instante, a mesa aparecia coberta com uma toalha e os acepipes pedidos.
Uma hora antes de almoçar, Atanásio Ivanovitch ainda comia uma bucha e matava o bicho: engolia uma boa porção de aguardente numa velha taça de prata, acompanhada de peixe seco e outros petiscos. Almoçava ao meio dia: além dos pratos, pires e talheres, a mesa tinha de suportar o peso de grande número de pequenos tachos e terrinas, hermeticamente fechados para que o sabor e o cheiro apetitoso dos cozinhados se não desvanecesse. Durante o repasto, a conversação girava quase sempre em volta de temas intimamente relacionados com este importante problema.
- Desconfio - começava normalmente por dizer Atanásio Ivanovitch - que esta papa de trigo está um bocado queimada. Não lhe parece, Pulquéria Ivanovna?
- Não, a mim não me parece, Atanásio Ivanovitch. Mas ponha-lhe um bocado de manteiga que perde esse sabor; ou então, se preferir, deite-lhe por cima um pouco deste molho de cogumelos.
- Seja - respondia Atanásio Ivanovitch, dando-lhe o seu prato. - Vejamos o que sai daí.
Depois do almoço, Atanásio Ivanovitch ia dormir a sesta. Uma hora depois, Pulquéria Ivanovna vinha-lhe trazer uma melancia cortada em talhadas e dizia:
- Ora prove esta melancia, Atanásio Ivanovitch, e vai ver como está fresquinha.
- O miolo é vermelho como sangue, mas em todo o caso é bom não confiar - retorquia Atanásio Ivanovitch escolhendo uma talhada razoavelmente grossa. - Há muitas que são vermelhas mas que não prestam para nada.
Em todo o caso, a melancia evaporava-se rapidamente, sucediam-se-lhe algumas pêras e depois o casal dava uma volta pelo jardim para ajudar a digestão. De regresso a casa, Pulquéria Ivanovna voltava a ocupar-se dos afazeres domésticos, enquanto o marido se instalava sob o alpendre, em frente do pátio, observando o celeiro, que se abria e fechava incessantemente para dar entrada e saída às criadas que em constante vaivém transportavam toda a casta de bugigangas em cestos, caixas e outros recipientes. Passado pouco tempo, Atanásio mandava chamar Pulquéria, ou ia ele próprio procurá-la e perguntava-lhe:
- Que é que há que se coma, Pulquéria Ivanovna?
- Não sei muito bem - replicava esta. - Quer que mande servir umas tortas de creme com morangos que pus de parte para si?
- Traga lá as tortas - respondia Atanásio Ivanovitch.
- Talvez prefira uma geleia de fruta?
- Traga a geleia de frutas - concordava Atanásio Ivanovitch.
E imediatamente se serviam estas deliciosas iguarias, que, bem entendido, eram engolidas num ápice.
Antes da ceia, Atanásio Ivanovitch não dispensava uma ligeira colação. Às nove e meia servia-se a ceia; e logo que a mesa estava levantada todos se deitavam e um profundo silêncio reinava neste pequeno canto da terra, ao mesmo tempo tão activo e tão tranquilo.
No quarto de dormir o calor era tão sufocante que poucas pessoas conseguiriam manter-se nele algumas horas; contudo, Atanásio Ivanovitch para melhor se aquecer deitava-se junto do fogão, embora o excesso de calor o obrigasse a levantar-se várias vezes durante a noite e a passear pelo quarto. Durante estes passeios, soltava de vez em quando um profundo gemido.
- Porque geme, Atanásio Ivanovitch? - informava-se, nesses momentos, Pulquéria Ivanovna.
- Só Deus sabe, Pulquéria Ivanovna. Parece-me que não estou muito bem do estômago - respondia Atanásio Ivanovitch.
- Talvez fosse melhor comer qualquer coisa - sugeria Pulquéria Ivanovna.
- Parece-lhe, Pulquéria Ivanovna? Mas o que é que eu poderei comer?
- Leite ou compota de pêras.
- Seja; não há perigo em experimentar - aquiescia Atanásio Ivanovitch.
E lá ia arrancar à cama uma das criadas para que fosse rebuscar os armários. Atanásio Ivanovitch comia sofregamente e depois costumava dizer com ar de alívio:
- Parece que me sinto melhor.
Algumas vezes, quando o tempo estava sereno e o quarto bem aquecido, Atanásio Ivanovitch sentia-se invadido por uma calma sensação eufórica de boa disposição e gostava de gracejar à custa de Pulquéria Ivanovna. Abordava, então, qualquer assunto de ordem geral.
- Ora vejamos, Pulquéria Ivanovna - perguntava-lhe ele -, se a nossa casa um dia ardesse que faríamos nós?
- Deus nos proteja! Porque pensa nessas coisas? - exclamava Pulquéria Ivanovna, benzendo-se.
- É só uma suposição: se a casa ardesse onde nos iríamos refugiar?
- Deus até o pode castigar pelo que está a dizer, Atanásio Ivanovitch. Como é que a nossa casa podia arder?! Deus não o permitirá!
- Mas se apesar de tudo ela ardesse?
- Bem, nesse caso, íamos para a parte da cozinha e ficávamos no quarto da governanta.
- E se a cozinha também ardesse?
- Ora essa! Arder a casa e a cozinha?! Deus nunca permitiria uma coisa dessas!... Bem, nesse caso, íamos para as casas de arrecadação e esperávamos que se reconstruísse a casa.
- Mas se as casas de arrecadação também ardessem?
- Apre! é demais! Já o não posso ouvir. Não sabe que é pecado dizer essas coisas e que Deus nunca deixa impunes semelhantes palavras?
Mas Atanásio Ivanovitch, satisfeito com a sua brincadeira inocente, sorria com uma expressão doce e suave e quedava-se imóvel na sua cadeira.
Quando eu mais gostava destes bons velhos era quando eles recebiam visitas. Tudo tomava um aspecto diferente na casa. Estas duas simpáticas pessoas entregavam-se de alma e coração aos convidados: traziam para a mesa tudo o que tinham de melhor; estavam numa ansiedade constante para ofertar os produtos das suas terras. O que sobretudo me enternecia e encantava, era ver que não havia o menor indício de afectação nessa cortesia. Pintava-se-lhes no rosto uma cordialidade tão espontânea e comovedora que nenhum convidado tinha coragem para resistir às suas insistências: sentia-se bem que apenas cediam aos impulsos do coração. Profundo abismo separa esta bonomia franca da etiqueta fastidiosa dum pretensioso funcionário de finanças que nos recebe com exclamações de "meu benfeitor!” e se curva servilmente a nossos pés.
Não há memória de jamais terem deixado partir uma visita no próprio dia da chegada; todos tinham que passar pelo menos uma noite naquela casa.
- Então, já quer ir embora? A uma hora destas, já tão tarde e ainda com tanto para andar?! - dizia infalível e invariavelmente Pulquéria Ivanovna, embora muitas vezes o visitante não morasse a mais de uma légua de distância.
- Pois com certeza, tem toda a razão - reforçava por seu lado Atanásio Ivanovitch. - Nunca se sabe o que pode acontecer na estrada a uma hora destas. Pode encontrar qualquer salteador ou qualquer pessoa de maus instintos e intenções.
- Deus nos livre de ladrões! - voltava à carga Pulquéria Ivanovna. - Porque é que fala dessas coisas a estas horas, Atanásio Ivanovitch? Não se trata de ladrões, mas a verdade é que a noite está muito escura. Não são horas para uma pessoa se meter ao caminho. E o seu cocheiro - conheço bem o seu cocheiro - é tão franzino que seria incapaz de fazer frente a uma cabra. Além disso pode ter a certeza de que a esta hora está ele para aí a curtir alguma bebedeira.
E a visita via-se forçada a ficar. No entanto, uma noite passada num quarto aconchegado e acolhedor, o sussurro embalador de palavras irradiando o calor duma simpatia e bondade naturais, o perfume e o sabor duma ceia substancial preparada delicadamente por mão de mestre, eram pródiga recompensa desse gesto de complacência.
Parece-me estar a ver Atanásio Ivanovitch curvado sobre a cadeira, com um eterno sorriso nos lábios, a escutar muito atento, a beber gulosamente as palavras do seu hóspede. Muitas vezes, a conversa recaía sobre política. O visitante que, por seu lado, também raramente saía da sua aldeia, tomava ares graves e misteriosos: envolvia-se em conjecturas, sugeria que Ingleses e Franceses se tinham concertado secretamente para instigar Napoleão a lançar-se outra vez sobre a Rússia, ou afirmava peremptoriamente que a guerra ia estalar em breve. Nessas ocasiões, Atanásio Ivanovitch, olhando Pulquéria Ivanovna de soslaio, tinha por costume declarar:
- Eu próprio tenho a intenção de me oferecer para a guerra. Sim, afinal porque é que eu não hei-de ir para a guerra?
- Pronto, lá está ele com as suas! - interrompia-o Pulquéria Ivanovna. - Não preste atenção ao que ele diz - acrescentava, dirigindo-se ao hóspede. - Pode imaginá-lo, com a idade que tem, a combater?! O primeiro soldado inimigo que o apanhasse matava-o logo. Não tenha dúvida, era só fazer pontaria e matava-o logo!
- A não ser que eu o matasse primeiro - replicava Atanásio Ivanovitch.
- Garganta, garganta! - recomeçava Pulquéria Ivanovna. - Mas digam-me o que é que ele ia fazer para a guerra?! Pois se ele até deitou as pistolas para o ferro velho! Só queria que as visse: todas ferrugentas! Ao primeiro tiro rebentavam-lhe nas mãos. Ficava todo desfigurado!
- Ora, isso não importa! - protestava Atanásio Ivanovitch. - Comprava umas armas novas, um sabre e uma lança de cossaco.
- Mas que disparate! Quando lhe sobe uma ideia à cabeça não há quem lha arranque - protestava Pulquéria Ivanovna já um tanto melindrada. - Eu bem sei que ele está a gracejar, mas nem por isso é menos desagradável ouvir semelhantes tolices. É sempre assim: por vezes, à força de tanto ouvir, acabo por me assustar.
Então, Atanásio Ivanovitch, satisfeito o capricho de amofinar um pouco Pulquéria Ivanovna, sorria benevolentemente, curvado sobre a cadeira.
O momento em que mais me divertia com Pulquéria Ivanovna era quando ela, à hora da ceia, conduzia o seu hóspede até ao aparador onde se amontoavam os acepipes para a refeição.
- Olhe - começava ela destapando uma garrafa -, isto é aguardente de milefólio e de salva, remédio excelente contra as dores das costas e dos rins; isto é aguardente de centaurcia, o melhor que há contra as impigens e os zumbidos dos ouvidos. Isto é essência de sementes de frutos, beba só um gole; que cheirinho, não tem? Quando se dá uma cabeçada na esquina duma mesa ou dum armário e se fica com um galo, basta beber um cálice desta aguardente antes da ceia para o mal desaparecer como por encanto.
E assim ia passando revista a todas as aguardentes e essências que possuíam, quase todas, uma ou outra virtude curativa. Depois de ter encharcado bem o seu hóspede com um pouco de todas estas misturas, passava às matérias sólidas e, indicando um autêntico batalhão de pratos, explicava:
- Olhe, isto são cogumelos com serpão; aquilo são cogumelos com cravo-da-índia e nozes da Valáquia. Quem me deu a receita foi uma turca, no tempo em que tivemos aqui na aldeia alguns prisioneiros dessa nacionalidade. Era uma boa mulher e era difícil descobrir que pertencia à religião turca: fazia quase tudo como nós; só no que não tocava era em carne de porco: parece que é proibido pela religião deles... Olhe, isto também são cogumelos, mas com noz moscada. E isto são abóboras de conserva; é a primeira vez que faço, não sei se vai gostar. Quem me ensinou a fazê-las foi o Tio Ivan: levam folhas de carvalho, pimenta, etc. E, por fim, aqui tem as empadas: estas são de queijo; aquelas de leite coalhado; e estas são de legumes, que são as preferidas de Atanásio Ivanovitch.
- É verdade - confirmava Atanásio Ivanovitch -, gosto muito delas, porque são tenrinhas e um pouco ácidas.
Em resumo: Pulquéria Ivanovna estava sempre de bom humor, quando tinha visitas: a simpática mulher concentrava nelas toda a sua atenção! Adorava visitar este casal. E claro, o organismo acabava sempre por se ressentir daquele excesso de alimentos, o que, aliás, acontecia a todos os outros hóspedes. E, contudo, era sempre com prazer que voltava a visitá-los. De resto, tenho a impressão de que o próprio ar da Pequena Rússia é propício às boas digestões. Pelo contrário, quem nesta cidade se entregasse a semelhantes comezainas corria grande risco de em breve se encontrar estendido não na sua cama mas sobre a mesa!
Ah! que bons e excelentes velhinhos!
Chegou, porém, o momento de vos contar um acontecimento muito triste que quebrou para sempre esta calma aprazível e que, pela futilidade das causas que o determinaram, mais chocante se torna. Por uma combinação bizarra e ocasional de circunstâncias, causas imperceptíveis e insignificantes engendraram sempre grandes e decisivos acontecimentos, ao passo que empreendimentos grandiosos e cuidadosamente planeados deram frutos irrisórios. Um conquistador organiza todas as suas forças, invade um país segundo planos meticulosamente estudados, luta em combates encarniçados durante vários anos, o exército cobre-se de glória - e tudo isto para usurpar umas nesgas de terras inúteis, onde mal se poderão semear batatas. Mas se por uma razão de lana caprina, um patego se trava de razões com um compadre da aldeia vizinha, logo a questão serve de rastilho para lançar o fogo às duas aldeias, às vilas, às cidades, ao país inteiro. Mas ponhamos de lado estes problemas superiores: não é este o local para os analisar, além de que me não agradam as especulações, que não passam de especulações.
Pulquéria Ivanovna tinha uma gata cinzenta que estava sempre enrolada a seus pés como um novelo de lã, e que ela acariciava de vez em quando. Não que ela simpatizasse muito com o bichano; mas o hábito de a ter sempre junto de si tinha-lhe criado uma certa afeição pelo animal.
Contudo, este afecto pela gata era objecto das zombarias de Atanásio Ivanovitch.
- Francamente, Pulquéria Ivanovna, não sei por que razão simpatiza com esse animal. Não serve para nada! Se ao menos tivesse um cão... Um cão ainda se pode levar à caça, mas uma gata...
- Era melhor que não dissesse tolices, Atanásio Ivanovitch - respondia-lhe Pulquéria Ivanovna. - Nunca pode estar calado. Um cão é um animal porco que só causa preocupações. Um gato, pelo contrário, é um animal simpático que não faz mal a ninguém.
Ao fim e ao cabo, Atanásio Ivanovitch tanto gostava de cães como de gatos. O que ele dizia era só para irritar e ouvir Pulquéria Ivanovna.
Por detrás do jardim da casa havia um enorme pinhal que o dono tinha poupado até então, decerto com receio de que o ruído fosse ferir os ouvidos delicados de Pulquéria Ivanovna. Era um pinhal basto, sombrio, abandonado; uma vegetação espessa e desordenada envolvia os velhos troncos das árvores fazendo recordar vagamente a penugem aveludada das pernas dos pombos. Habitavam-no apenas os gatos selvagens. É preciso não confundir os gatos selvagens com esses gatos vadios e experimentados que vagabundeiam pelos telhados das casas: a despeito das suas maneiras bruscas, estes habitantes das cidades são muito mais civilizados que os gatos selvagens, raça de animais desconfiados e bravios, sempre escanzelados e com um miar rude e primitivo. Por vezes, estes mariolas abrem galerias subterrâneas até aos celeiros, onde se introduzem e roubam o que podem. A sua audácia vai até ao ponto de saltarem agilmente pelas janelas das cozinhas logo que sentem a cozinheira afastar-se. São estranhos a qualquer sentimento generoso, vivem da rapina, e matam os pássaros dentro dos próprios ninhos. Uma vez, num dos corredores subterrâneos, um destes libertinos encontrou a gatinha de Pulquéria Ivanovna, que em breve se deixou seduzir como uma ingénua de aldeia por um soldado da cidade. Desde esse dia desapareceu. A dona procurou-a em vão por toda a parte. Passaram-se três dias, mas depois de algumas lamentações Pulquéria Ivanovna acabou por esquecê-la. Até que um dia, quando regressava duma visita de inspecção à horta, trazendo uma braçada de pepinos para Atanásio Ivanovitch, lhe chegou aos ouvidos um miar desolado. Instintivamente começou a chamar: bicha, bicha, bichinha; e de repente saltou dum silvado a sua gatinha cinzenta, muito magra, muito desfigurada. Era evidente que já não comia havia muitos dias. Pulquéria Ivanovna continuava a chamá-la, mas a gata miava, miava e não ousava aproximar-se, tão selvagem se tinha tornado. Pulquéria Ivanovna retomou o caminho de casa, continuando os seus apelos: bicha, bichinha. A gata seguiu-a a medo até à vedação e depois de ter reconhecido a casa decidiu-se a entrar. Pulquéria Ivanovna mandou-lhe dar imediatamente leite e carne, deliciando-se ao ver o animal atacar com sofreguidão os alimentos.
Aquela favorita pródiga parecia engordar instantaneamente, e quando se lhe acalmou a voracidade, Pulquéria Ivanovna estendeu a mão para lhe fazer uma festa no lombo; mas a ingrata saltou ligeira pela janela e fugiu para sempre, sem dúvida porque tomara já demasiado gosto pela companhia dos gatos selvagens ou porque sob a influência deles perfilhara a máxima romântica de que o amor e a miséria são preferíveis à riqueza e à solidão.
Este incidente deu que pensar à boa da velha. «Foi a morte que me veio visitar!» acabou por concluir depois de muito matutar. E toda a santa tarde este pensamento a absorveu, sem que houvesse forma de afastá-lo. Atanásio Ivanovitch tentou em vão brincar, gracejar e conhecer as razões desta melancolia repentina. Pulquéria Ivanovna permanecia muda ou, então, limitava-se a dar respostas evasivas que o não satisfaziam. No dia seguinte tinha emagrecido muito.
- Então, que tem, Pulquéria Ivanovna? Sente-se doente?
- Não, não estou doente, Atanásio Ivanovitch. Mas tenho que o prevenir dum acontecimento muito importante: vou morrer este verão. Tenho a certeza: a morte já me veio visitar.
Atanásio Ivanovitch mordeu os lábios de dor, mas dominou-se e tentou sorrir:
- Não sabe o que está a dizer, Pulquéria Ivanovna. Com certeza que em vez do seu cházinho habitual tomou por engano uma chávena de aguardente.
- Não, Atanásio Ivanovitch, não bebi nenhuma aguardente.
Atanásio Ivanovitch sentiu-se roído de remorso por aquele gracejo e fixou o olhar em Pulquéria Ivanovna, enquanto uma lágrima se lhe encamarinhava nas pálpebras.
- Peço-lhe, Atanásio Ivanovitch, que faça cumprir as minhas últimas vontades - recomeçou Pulquéria Ivanovna. - Desejo que me enterrem perto da igreja, que me vistam o meu vestido cinzento, sabe, aquele que tem umas florzinhas num fundo castanho. De maneira nenhuma quero que me ponham o meu fato de cetim; os mortos não têm necessidade de luxos, e ainda se pode fazer dele um belo robe para que o senhor receba convenientemente as visitas.
- Só Deus pode compreender o que está a dizer, Pulquéria Ivanovna - repetia Atanásio Ivanovitch. - Se não vai morrer já para que me está a fazer sofrer com antecedência?
- Engana-se, Atanásio Ivanovitch. Sei muito bem que a minha morte se aproxima. Não se preocupe nem se amofine por minha causa: já estou velha, já vivi muito. O senhor também já não é nenhum rapaz e em breve nos voltaremos a encontrar no outro mundo.
Atanásio Ivanovitch chorava como uma criança.
- Até é pecado estar a chorar, Atanásio Ivanovitch. Não chore, não chame sobre si a cólera divina. Eu não tenho pena de morrer. Só me preocupa uma coisa (e aqui escapou-se-lhe do peito um suspiro profundo): é não saber a quem confiar, é não saber quem tomará conta de si quando eu já não estiver a seu lado. O senhor é como uma criancinha e quem o servir tem de o amar.
À medida que ia falando ia-se-lhe pintando no rosto uma expressão de tão profunda piedade e de tão desolador sofrimento, que ninguém a poderia contemplar com indiferença.
- Escuta, Eudóxia - disse ela à governanta que tinha mandado chamar à sua presença propositadamente. - Quando eu morrer olha pelo teu patrão como se fosse um filho teu, dá ordens para que lhe preparem os pratos de que ele gosta; dá-lhe sempre a roupa muito limpinha; quando houver visitas, veste-o como deve ser, porque de contrário ele é muito capaz de receber os hóspedes com um fato velho, pois já não distingue muito bem os dias de festa dos dias vulgares. Nunca o percas de vista, Eudóxia, que eu rezo por ti no outro mundo e Deus há-de recompensar-te. Não te esqueças de nada do que te digo; tu estás velha, já não tens muito tempo para viver, não queiras manchar a tua alma com um pecado. Se não cuidas dele como deve ser, nunca mais serás feliz neste mundo e eu própria pedirei a Nosso Senhor para não te conceder uma morte boa, serás infeliz para todo o resto da tua vida e nem os teus filhos nem a família receberão as bênçãos de Deus.
Pobre velha! Não pensava nem no momento solene que a aguardava, nem na salvação da sua alma, nem na vida futura; apenas a preocupava a sorte daquele homem que fora o companheiro de toda a sua vida e que agora tinha forçosamente de abandonar. Com uma lucidez perfeita, determinou todas as coisas de forma que Atanásio Ivanovitch não pudesse ressentir-se da sua ausência. Estava tão conscientemente convencida da proximidade da morte e o seu espírito tão calmamente preparado para aceitar este acontecimento, que ao fim de alguns dias se recusou a levantar-se e a tomar qualquer alimento. Atanásio Ivanovitch prodigalizou-lhe todos os cuidados e atenções, não abandonando nunca a cabeceira da doente.
- Não seria melhor tomar qualquer coisa, Pulquéria Ivanovna? - perguntava-lhe, olhando-a nos olhos com inquietação.
Mas Pulquéria Ivanovna quedava-se muda. Por fim tentou balbuciar como que para quebrar este longo silêncio... e exalou o último suspiro.
Atanásio Ivanovitch ficou esmagado. Esta tragédia deixou-o tão perplexo que nem sequer verteu uma lágrima: ficou-se a contemplar o cadáver com um olhar turvo. O sentido da morte parecia escapar à sua compreensão.
Estenderam o cadáver sobre uma mesa, vestiram-lhe o fato que tinha indicado, cruzaram-lhe os braços sobre o peito, puseram-lhe uma vela entre os dedos. Atanásio Ivanovitch a tudo assistiu numa completa insensibilidade. Passado pouco tempo, a casa foi invadida por pessoas de todas as condições, muitas delas vindas de longe para prestarem a última homenagem. No pátio havia algumas mesas compridas apinhadas de bolos, aguardentes e o tradicional bolo funerário, de arroz. Os visitantes falavam, choravam, contemplavam a defunta, evocavam as suas virtudes e voltavam os olhares para Atanásio Ivanovitch, que olhava para tudo isto com uma expressão imbecil. Por fim, levaram o cadáver, toda a gente acompanhou o enterro - e ele seguiu atrás do cortejo. O padre tinha vestido os paramentos mais ricos, o sol resplendia, as crianças choravam nos braços das mães, as cotovias cantavam nos campos, a garotada brincava à beira dos caminhos. Finalmente, depositaram o caixão à beira do túmulo e convidaram-no a aproximar-se para dizer o último adeus à defunta. Ele aproximou-se e beijou-a maquinalmente; chorava, mas eram lágrimas quase insensíveis. O caixão desceu à terra; o diácono e os dois chantres entoaram um requiem num tom baixo e arrastado que se foi perder no céu puro e sem nuvens; os coveiros tomaram as pás e em breve a terra cobria completamente a última morada de Pulquéria Ivanovna. Neste momento, Atanásio Ivanovitch deu uns passos em frente e toda a gente se afastou, desejosa de conhecer as suas intenções.
Aproximou-se do túmulo, levantou os olhos do chão, passeou à sua volta um olhar baço e exclamou:
- Já a enterraram! Porquê...?
E foi incapaz de acabar a frase.
Quando se encontrou de novo em casa, naquele quarto vazio donde tinham retirado tudo, até mesmo a cadeira de Pulquéria Ivanovna, precipitou-se num pranto impressionante, soluçou, soluçou sem fim, soluçou dolorosamente, inconsolavelmente com as lágrimas a escaparem-se-lhe em bica dos olhos embaciados.
Cinco anos se passaram. Há alguma dor que resista ao tempo? Há algum desgosto, alguma paixão que resista à luta desigual com o tempo? Conheci outrora um homem na flor da mocidade, dotado dum carácter verdadeiramente superior e das virtudes mais preciosas, arrebatado por uma paixão comovedora, louca, exaltada mas nobre. Pois diante de mim, quase sob os meus olhos, a insaciável ceifeira levou-lhe o objecto querido do seu amor, uma encantadora criatura, bela como um anjo. Nunca na minha vida assisti a semelhantes excessos de arrebatamento, a uma angústia tão pungente, a um desespero tão frenético. Nunca tinha imaginado que um homem fosse capaz de criar dentro de si um inferno tão tenebroso, um inferno onde nunca penetra o mais pálido reflexo duma esperança. O infeliz apaixonado era vigiado de perto e retiraram do seu alcance todo o objecto de que ele pudesse lançar mão para se suicidar. Ao fim de quinze dias, dominando inesperadamente o seu sofrimento, desatou a rir e a gracejar: deixaram-no à vontade e ele aproveitou imediatamente a liberdade para comprar uma arma. E, um dia, soou na casa um tiro que aterrorizou os parentes: precipitaram-se no quarto e encontraram-no no chão, com um tiro na cabeça. Correram em busca dum médico que gozava nessa época de grande nomeada, que perante o espanto geral conseguiu salvá-lo. Desde então redobraram a vigilância sobre este infeliz desesperado: esconderam dele todo o menor objecto com que pudesse ferir-se. Mas acabou por aproveitar uma oportunidade para se escapar e lançou-se sobre as rodas dum carro: partiu as pernas e os braços, mas ainda desta vez o conseguiram salvar. Um ano mais tarde, voltei a encontrá-lo num salão muito frequentado: estava sentado a uma mesa de jogo e dizia, com uma voz alegre, desfazendo-se duma carta: "Pouca sorte!" enquanto por trás dele, de pé, apoiada ao espaldar da cadeira, uma mulher muito jovem - a mulher dele - brincava despreocupadamente com os dados.
Cinco anos, pois, após a morte de Pulquéria Ivanovna, encontrando-me por acaso nessas paragens, ocorreu-me a ideia de ir surpreender Atanásio Ivanovitch, recordar ao vivo os lugares onde outrora tinha passado tantas horas felizes amimado pela generosidade de Pulquéria Ivanovna. Ao chegar diante da casa pareceu-me que o dobro do tempo tinha passado sobre ela: as capoeiras estavam em ruínas, e os seus habitantes decerto tinham desaparecido; a vedação estava completamente destruída, e vi, com os meus próprios olhos, a cozinheira arrancar-lhe uma das traves para a pôr no fogão, quando lhe bastava dar mais dois passos para deitar mão a um monte de lenha. Aproximei-me tristemente da entrada; os mesmos cães - mas agora cegos ou estropiados - começaram a ladrar, endireitando as caudas de pêlo frisado mas sujo. O velho veio ao meu encontro. Ainda hesitei se seria ele, tão curvado estava. Reconheceu-me e recebeu-me com o mesmo sorriso que lhe conhecera. Entrei na casa: superficialmente, tudo parecia na mesma, mas em breve se notava uma desordem que era indício certo duma ausência. Tive a sensação estranha que nos assalta quando penetramos pela primeira vez na casa dum viúvo que sempre nos habituámos a ver na companhia inseparável da esposa. É exactamente a mesma sensação de angústia que nos estrangula quando visitamos um doente que sempre conhecemos com saúde. Nas mais pequeninas coisas se notava a falta de solicitude de Pulquéria Ivanovna: uma das facas que puseram na mesa não tinha cabo; os pratos já não eram servidos com a mesma perfeição. Para não alargar esta visão de decadência, nem sequer me informei do estado das culturas e recusei-me a ver as cavalariças.
Quando nos sentámos à mesa, uma das criadas amarrou um guardanapo ao pescoço de Atanásio Ivanovitch. Foi uma boa medida, porque ele teria sujado o fato todo. Esforcei-me por o distrair, contei-lhe novidades: escutou-me com o seu sorriso de sempre, mas em certos momentos o seu olhar tornava-se vazio e distante, e na sua expressão não transparecia o menor traço dum pensamento. Nesses momentos levava a colher ao nariz, e como não atinava com a boca era preciso a criada pegar-lhe na mão para comer a sopa. As refeições eram servidas lentamente, com grandes intervalos entre cada prato. O próprio Atanásio Ivanovitch se apercebia da demora e perguntava:
- Porque demoram tanto tempo a servir-nos?
Pela porta entreaberta, vi perfeitamente que o rapaz incumbido deste serviço se deixara adormecer sobre uma cadeira, com a cabeça pendida sobre o peito.
- Era este prato - disse-me Atanásio Ivanovitch quando nos apresentaram um pastelão de queijo -, era este prato... - repetiu, com voz entrecortada e com as lágrimas a saltarem dos olhos - era este prato que a minha po... pobre...
E, de repente, desfez-se em lágrimas; deixou cair o braço sobre o prato, que se empinou, caiu no chão e partiu-se; o molho sujou-o todo. E, contudo, ficou sentado, insensível, de colher na mão, estático, e dos olhos, como a água duma fonte inesgotável, as lágrimas corriam, corriam em fios contínuos sobre o guardanapo que lhe protegia o peito.
"Meu Deus", pensava para comigo, "cinco anos se passaram, cinco anos de acção desse demolidor universal e impiedoso que é o tempo, e este velho já enregelado a quem a vida parecia ter protegido de toda a emoção violenta, reservando-lhe o prazer de longas horas de descanso, a alegria de histórias inocentes e as delícias e acepipes delicados - cinco anos, e este velho continua ainda a ser presa duma angústia inflexível. Quem, pois, terá mais poder sobre a alma humana: a paixão ou o hábito? Talvez os nossos desejos, os nossos ímpetos, as nossas loucuras sejam apenas apanágio dos nossos verdes anos, talvez seja apenas a nossa imaginação juvenil que empreste um halo de realidade a todo esse turbilhão irresistível de paixões!"
Seja como for, comparadas a este hábito longo, lento e quase inconsciente, todas essas paixões me pareceram, nesse momento, futilidades pueris. Por várias vezes Atanásio Ivanovitch tentou pronunciar o nome da falecida mulher, mas no meio da palavra o rosto plácido alterava-se-lhe convulsivamente e as suas lágrimas de criança feriam-me o coração. Não, não eram lágrimas protocolares em que se mostram sempre pródigos os velhos quando nos contam os seus infortúnios e tristezas; nem tão-pouco eram as lágrimas fáceis que o álcool provoca; não, estas lágrimas caíam por si mesmas, espontâneas, transbordavam dum coração há muito retalhado pela dor.
Atanásio Ivanovitch morreu pouco depois da minha visita. Soube há pouco tempo que tinha falecido, e, coisa curiosa, certas circunstâncias fizeram que a sua morte se assemelhasse à de Pulquéria Ivanovna. Certo dia, de tempo magnífico, quis dar um passeio pelo jardim da casa. Ao caminhar lentamente por uma vereda com a indiferença que nele se tornara habitual, pareceu-lhe ouvir uma voz que o chamava distintamente: "Atanásio Ivanovitch." Voltou-se. Não viu ninguém. Olhou para todos os lados, não viu ninguém. Estava um dia sereno de sol brilhante. Reflectiu um momento, o rosto iluminou-se-lhe e acabou por exclamar: "É Pulquéria Ivanovna que me chama!".
Com certeza que já vos aconteceu ouvir uma voz que chama pelo vosso próprio nome. Dizem as pessoas simples que é uma alma que tem saudades vossas e que vos comunica a proximidade da morte. Devo confessar que sempre tive medo deste misterioso apelo, que aliás ouvi muitas vezes na minha infância. Acontecia geralmente em dias de sol glorioso: nem uma folha bulia, pairava sobre tudo um silêncio de morte, os próprios grilos interrompiam o seu cantar, nem vivalma à minha volta. Este silêncio horrível aliado à serenidade dum dia límpido assustava-me muito mais do que a noite mais sinistra e tenebrosa, do que toda a fúria dos elementos surpreendendo-me no meio duma floresta densa. Fugia a toda a pressa, desnorteado e ofegante, e só conseguia acalmar-me quando o contacto com um outro ser humano dissipava em mim a sensação aflitiva de vácuo que se apoderava do meu coração.
Convencido de que sua mulher o tinha chamado, Atanásio Ivanovitch curvou-se à ideia da morte com uma docilidade infantil. Começou a tossir, a emagrecer, a desaparecer lentamente como uma vela acesa, e como uma vela se extinguiu, quando já nada resta para alimentar a sua chama débil.
"Enterrem-me ao pé de Pulquéria Ivanovna" foram as suas últimas palavras.
Fizeram-lhe essa vontade e enterraram-no perto da igreja, junto de Pulquéria Ivanovna. À cerimónia assistiram principalmente pessoas simples e mendigos. E, desta vez, a casa ficou deserta. O caseiro e o feitor levaram para casa tudo o que a governanta não tinha ainda subtraído. Inesperadamente, surgiu não se sabe bem donde o herdeiro dos bens, um parente afastado, que tinha sido tenente não sei em que exército e que tinha a ideia fixa das reformas. Imediatamente compreendeu o estado de abandono e de desordem em que tudo estava, e decidiu, portanto, pôr fim a todos os abusos e estabelecer uma ordem perfeita. Para tal, comprou instrumentos de lavoura novos, numerou todas as capoeiras - enfim, seguiu uma orientação tão prudente e tomou medidas tão sábias que ao fim de seis meses tiveram que o dar por incapaz e pô-lo sob tutela. Depois de prudentemente estudado o assunto, o espinhoso encargo foi entregue a um funcionário público reformado e a um capitão da reserva, cujo uniforme tinha evidentemente sofrido as inclemências do tempo. Estes ponderados tutores apressaram-se a mandar destruir as capoeiras, incluindo os ovos e tudo. As casas de arrecadação, que se inclinavam já quase até ao chão, acabaram por cair definitivamente. Os trabalhadores passaram a embriagar-se descaradamente e acabaram todos por fugir. Quanto ao proprietário, que aliás vivia nas melhores relações com os seus tutores, com quem se entregava a generosas libações alcoólicas, raras vezes punha os pés nas suas terras. Pode-se ainda encontrá-lo em qualquer feira da Pequena Rússia: informa-se detalhadamente dos preços dos géneros que só se vendem por grosso, como a farinha, o cânhamo, o mel, para apenas comprar pedras de isqueiro, cachimbos e outros objectos insignificantes cujo valor nunca vai além de um rublo.
Nicolai Gogol
O capote
Na Repartição de... Mas será melhor não a nomearmos, porque nada há mais susceptível do que os nossos empregados públicos, desde os amanuenses aos chefes de repartição. Actualmente, cada um sente-se em particular como se na sua pessoa toda a sociedade tivesse sido ofendida. Diz-se que um capitão da polícia apresentou, ainda não há muito tempo, uma queixa – não me recordo em que cidade isto se passou – revelando claramente que os decretos imperiais eram desdenhados por toda a gente e que o santo nome de um oficial era proferido com desprezo. E juntava, como prova, o volumoso tomo de certa novela em que, de dez em dez páginas, aparecia um capitão da polícia e, o que é demais, em completo estado de embriaguez. Deste modo, para evitar desgostos, em vez de indicar a repartição onde ocorreu o facto, é preferível dizer apenas: "Numa repartição..."
Por conseguinte, "numa repartição" servia "um funcionário". Esse funcionário, é justo dizê-lo, era muito distinto: de estatura baixa, um pouco picado das bexigas e igualmente um pouco curto de vista, com uma pequena calva a principiar na testa, rugas nas duas faces e, no rosto, essa cor característica do hemorroidal... Que se lhe há-de fazer: A culpa era do clima de S.Petersburgo. Pelo que se refere à sua categoria (pois é entre nós a primeira coisa que se menciona), era o que se designa por "conselheiro titular perpétuo", um daqueles com que satirizam certos escritores que têm o benemérito hábito de cair a fundo sobre os inofensivos.
O nosso funcionário tinha o apelido de Blaquemaquine (sapateiro) e já por esse apelido se vê qual tinha sido a sua ascendência; mas quando, onde e de que maneira tal apelido surgira ninguém o sabia; sabia-se apenas que pai, o avô e até mesmo o cunhado, e em geral todos os Blaquemaquines, tinham ascendentes sapateiros.
Chamava-se Acaqui Acaquievich. Ora é possível que o leitor considere este nome um pouco estranho e pretensioso, mas pode crer que não é assim: ele foi-lhe posto nas circunstâncias mais naturais e é fácil ver que não poderia ter sido outro.
Acaqui Acaquievich nasceu na noite de 23 de Março. A sua defunta mãe, esposa de um funcionário, muito boa mulher, dispôs as coisas para que o menino fosse baptizado segundo as praxes. A mãezinha estava ainda de cama em frente da porta; à direita, de pé, o padrinho, Ivan Ivanovitch Erochquine, excelente homem, chefe de uma secretaria do Senado, e a madrinha, Arina Semenovna Bielobriuchkova, esposa de um oficial e mulher de extraordinárias virtudes. Apresentaram à parturiente três nomes para que escolhesse aquele de que mais gostasse: Moquia, Sosia, ou então o nome do mártir Josdasata. "Não!", pensou a doente. "Que nomes!" Para lhe serem agradáveis, levantaram a folhinha do calendário e leram, noutro lugar, mais três nomes: Trifili, Dula e Varaiasi. "Que castigo este!", comentou a mulher. "São tão bonitos como os outros! Nunca ouvi esses nomes! Ainda se fosse Varadat, ou Varui, mas agora Trifili e Varaiasi!" Voltaram mais uma folhinha do calendário e deparou-se-lhes: Pafsicai e Vaitisi. "Já vejo", disse, "é o destino que o quer! Nesse caso, prefiro que tenha o nome do pai. O pai chamava-se Acaqui, e o nome do filho será, portanto, Acaqui." Resultou dessa maneira Acaqui Acaquievich. O menino foi baptizado, chorou e fez grandes caretas, como se pressentisse que teria de ser conselheiro titular. Foi isso que aconteceu.
Contamos isto com o propósito de levar o leitor a compreender por si próprio como foi fatal a impossibilidade de lhe dar outro nome. Quando teria sido colocado na repartição e quem o teria nomeado são coisas de que ninguém se recorda. Todos os directores e todos os chefes de repartição que por lá passaram viram-no sempre no mesmo lugar, na mesma posição e com a inalterável dignidade de um burocrata que compulsa requerimentos; ao vê-lo, poderia julgar-se que assim nascera neste mundo, completamente burocratizado, de uniforme e calvo.
Ninguém na repartição o respeitava. O porteiro não só não se levantava à sua passagem como nem sequer se dignava lançar-lhe um olhar: importava-se tanto com Acaqui como com uma mosca. Os chefes aproximavam-se dele com uma frieza autoritária. Qualquer ajudante do chefe de secretaria metia-lhe um ofício debaixo do nariz sem lhe dizer sequer: "Copie!", ou "Aqui tem você um belo trabalhinho, uma tarefa interessante", ou outra qualquer coisa amável, como é estrito dever dos funcionários inferiores bem-educados dizerem. O nosso homem pegava no ofício, olhava-o, sem mesmo reparar em quem lho entregara ou se aquele trabalho lhe competia, e punha-se imediatamente a escrever. Os empregados mais jovens elegiam-no por tema de zombarias e chacotas e os amanuenses, que se presumiam de espirituosos, contavam, na sua presença e de diversos modos, a sua própria história e a da sua hospedeira, velhota dos seus setenta anos, que, segundo diziam, o espancava; e perguntavam quando era o casório, atirando-lhe à cabeça pequenos pedaços de papel, a fingir de flocos de neve. Acaqui Acaquievich não respondia uma só palavra às zombarias, como se ali estivesse sozinho. Essas chalaças nem sequer exerciam influência na tarefa que o absorvia: apesar de todas as impertinências de que era objecto, não fazia um único erro de escrita. Só quando a brincadeira se tornava insuportável e lhe batiam no cotovelo, desviando-lhe a atenção, exclamava: "Deixem-me! Porque zombam de mim?" E havia alguma coisa de estranho nas suas palavras e na voz alterada com que as pronunciava. Alguma coisa soava nelas que despertava compaixão; e, por isso, um jovem colocado na repartição havia pouco tempo, que, seguindo o exemplo dos demais, se permitia zombar dele, deteve-se, impressionado, e modificou, a partir de certa altura, o seu comportamento, como se tudo, repentinamente, se tivesse transformado. Que força sobrenatural o elevava acima de todos os seus companheiros, a quem, até então, considerara pessoas correctas e civilizadas! E muito tempo depois, no meio das suas alegrias e prazeres, detinha-se, perplexo, a recordar o funcionário baixo, de calva a principiar na testa, e ouvia-lhe as penetrantes palavras: "Deixem-me! Porque me vexam?" E juntamente com essas palavras penetrantes ressoavam outras: "Sou vosso irmão!" E o jovem cobria o rosto com as mãos e estremecia intensamente, vendo quanta desumanidade existe no homem e quanta grosseria se disfarça sob a polidez, a educação e as maneiras da gente fina. "Deus meu! Até mesmo aquele cavalheiro a quem toda a gente considera digno e honrado..."
Dizer que servia com zelo não basta; deve dizer-se: servia com amor. Ali, naquelas cópias, revia-se como num mundo tranquilo e feliz. O prazer gritava-lhe na face. Havia letras que eram suas favoritas e, quando as escrevia, ficava como que excitado: sorria, devorava-as com os olhos e acompanhava a tarefa soletrando com os lábios, de maneira que era quase possível ler-lhe no rosto cada uma das letras que com a pena escrevia. Se tivesse sido proposta uma recompensa proporcional à sua diligência, talvez que, com espanto seu, já tivesse sido nomeado conselheiro de Estado. Mas tudo quanto ouviu foi uma cruel alusão dos seus companheiros irónicos: que em vez de uma condecoração na lapela tinha hemorróidas noutro lugar. E era assim a consideração que mostravam ter por ele. Um director, homem de bom coração, desejando recompensá-lo pelos seus diligentes serviços, ordenou que lhe dessem alguns trabalhos de mais importância do que as simples cópias vulgares; encarregaram-no de informar outra repartição acerca dos documentos passados naquela a que pertencia, consistindo a sua tarefa em mudar os títulos e passar os textos da primeira pessoa gramatical para a terceira. Isto exigia-lhe tamanho esforço que, sem exagero, transpirava; esfregando a testa, exclamou por fim: "Não; é melhor que me dêem um trabalho de cópia." E desde então ficou, para sempre, copista. Fora do mundo das cópias de ofícios, nada para ele existia. Nem sequer se preocupava com o vestuário; o seu uniforme perdera a cor amarela e tinha agora um tom desbotado e indefinido; a gola do casaco era estreita e baixa, de modo que o pescoço, apesar de ser um pouco gordo, parecia de uma extraordinária altura, lembrando aqueles gatinhos de gesso que movem a cabeça.
Trazia sempre qualquer coisa agarrada ao uniforme, fossem palhas ou palitos, pois tinha tanta sorte, ao ir pela rua, que passava debaixo de uma janela no preciso momento em que deitavam fora uma lata vazia, e trazia sempre no chapéu de chuva pevides e cascas de melão, ou coisas semelhantes. Nem uma só vez na vida prestara atenção ao que se passava ou sucedia diariamente na rua. Nisso era muito diferente dos jovens funcionários que, de olhar extremamente móvel e penetrante, imediatamente notavam quem levava os fundilhos das calças um pouco puídos, sorrindo com irónico prazer das alheias misérias. Acaqui Acaquievich, embora divagando o olhar por tudo isso, via exclusivamente os seus ofícios correctos, copiados com uma letra esmerada, e só por casualidade, quando lhe roçava pelo ombro o focinho de um cavalo e o vento lhe soprava no rosto, só então, dava conta de que se não encontrava no meio de um parágrafo, mas no meio da rua.
Ao chegar a casa, sentava-se à mesa, levava rapidamente à boca umas tantas colheradas de sopa, comia a carne de vaca com cebola, sem atender sequer ao paladar: era capaz de comê-la com moscas e tudo. Quando verificava que começava a ter o estômago cheio, levantava-se da mesa, ia buscar um pequeno tinteiro e copiava os papéis que trouxera da repartição para trabalhar em casa; se não trouxera trabalho, ocupava-se então a copiar por gosto e divertimento, e fazia-o com uma íntima satisfação, não derivada apenas do belo talhe de letra que possuía, mas da importância da pessoa a quem imaginava que o ofício se dirigia.
Até quando se obscurece totalmente o céu nevoento de S.Petersburgo e toda a multidão de empregados ceia segundo as suas possibilidades, conforme os vencimentos e os gostos particulares de cada qual; quando todos descansam de ouvir o incessante arranhar da pena no papel e do constante vaivém da vida diária, quer das andanças realizadas por motivo da profissão, quer de todas quantas empreendem homens insatisfeitos e inquietos; quando os funcionários se apresentam a dedicar o tempo que lhes resta em distracções várias – uns no teatro, outros na rua, observando certas sombrinhas elegantes, outros ainda adorando uma bela e modesta dama, estrela de um pequeno círculo de empregados, e, ainda mais frequentemente, algum outro em casa de um colega que habita no segundo ou terceiro andar, em dois diminutos compartimentos, tais como uma antessala e uma cozinha e uma lâmpada ou qualquer outro objecto que ostensivamente pretende estar na moda e que custou muitos sacrifícios, renúncias a prazeres e divertimentos – numa palavra, à hora em que todos os burocratas se dispersam pelas exíguas habitações dos amigos, para jogar o whist, bebendo pequenos goles de chá com açúcar, apertando-se uns contra os outros no ambiente denso da fumaça que se evola dos grandes cachimbos, contando o resultado de qualquer intriga da alta sociedade, coisa a que nunca o Russo, e em qualquer condição, pode renunciar, ou então, quando não há outro assunto, repetindo uma velha anedota acerca de um comandante a quem vieram dizer que tinha sido cortado o pescoço do cavalo do monumento de Pedro, o Grande; em suma, até nos momentos em que todos procuram divertir-se, Acaqui Acaquievich não se entregava a divertimento algum. Ninguém podia afirmar tê-lo visto num sarau. Depois de copiar o mais que podia, deitava-se, antecipadamente se regozijando a pensar no dia seguinte. "O que lhe ofereceria Deus para copiar amanhã?" Assim se escoava a vida do homem pacífico a quem bastaria uma modesta aposentadoria para o fazer feliz e que teria de prosseguir a mesma vida até à mais provecta idade se não sucedesse qualquer das desgraças que não surgem apenas na vida de um titular, mas também na dos próprios conselheiros secretos efectivos e na dos conselheiros da coroa, inclusive na daqueles que não dão conselho algum e de quem, de resto, nem se aceita.
Em S.Petersburgo existe um poderosíssimo inimigo de todos os que recebem uns quatrocentos rublos de vencimentos anuais. Esse inimigo não é outro senão o frio do Inverno que é, aliás, considerado, por alguns, muito sadio. Às dez da manhã, ou seja à hora em que as ruas se enchem de todos os que se dirigem para as respectivas repartições, começa o vento a distribuir fortes zurzidelas, que cortam todos os narizes à direita e à esquerda, sem selecção de nenhuma espécie, de maneira que os pobres funcionários não sabem onde e como os podem resguardar. À hora em que até aos mais altos empregados dói a cabeça com frio e em que as lágrimas lhes saltam irresistivelmente dos olhos os pobres conselheiros titulares encontram-se, por vezes, indefesos. A única salvação consiste em caminhar o mais depressa possível, embrulhados nos finos capotes, percorrendo cinco ou seis ruas, e deixar depois arrefecer os pés na portaria, perdendo assim a única vantagem da ofegante caminhada.
Acaqui Acaquievich andava há tempos a sentir intensas picadas nas costas e nos ombros, apesar de se esforçar por transpor as distâncias o mais rapidamente possível. Começou a pensar se o responsável disso não seria o seu capote. Ao chegar a casa, examinou-o cuidadosamente e descobriu que o tecido estava puído em dois ou três lugares, precisamente nas costas e nos ombros, de tal modo que se tornara uma rede e, em virtude também do forro se encontrar esgarçado. Convém saber que o capote de Acaqui Acaquievich servia também de motivo de chacota aos funcionários; chegaram até a recusar-lhe o nobre nome de capote e a chamarem-lhe capinha. Tinha, efectivamente, uma forma pouco comum aos capotes, visto que a gola diminuía de ano para ano, porque era utilizada para remendar o resto. Quanto aos remendos, não demonstravam gosto algum da parte do alfaiate; demonstravam, muito pelo contrário, grosseria e fealdade.
Tendo Acaqui Acaquievich considerado ponderadamente os prós e os contras, decidiu-se a levar o capote a Petrovich, um alfaiate que habitava num quarto andar sem sol e que, apesar de zarolho e bexiguento, se ocupava, com bastante habilidade, em consertar calças e fraques de funcionários, isto, é claro, nos momentos em que não se encontrava em estado de completa embriaguez e não alimentava na sua cabeça outras ideias. Não faria falta, dir-se-á, falar deste alfaiate, mas, já que é costume dar a conhecer plenamente em todas as histórias o carácter de uma personagem, não deve haver inconveniente em que apresentemos aqui Petrovich. Começara por se chamar simplesmente Gregório, e era então um homem equilibrado, servo de um senhor. O nome Petrovich data da época em que alcançara a liberdade e em que dera em embebedar-se valentemente todos os dias de festa; primeiro só nos dias grandes, e depois, sem destrinças, em todos os dias santificados, sempre que no calendário encontrasse uma cruz. Permanecia, por este lado, fiel aos costumes dos antepassados e, ralhando com a mulher, chamava-lhe mundana e tudesca. Já que citamos a consorte, conviria dizer duas palavras acerca dela: por desgraça, tudo quanto se sabe a seu respeito é que era mulher de Petrovich, que usava gorro à russa e não lenço; não parecia distinguir-se pela sua beleza, e o mais que aconteceu foi encontrarem-se uma vez com ela os soldados da guarda ao regimento, mirarem-na por baixo do gorro, fazerem trejeitos com a boca e proferirem certas palavras que não podemos repetir.
Subindo a escada que conduzia a casa de Petrovich – escada essa que, para dizer a verdade inteira, estava cheia de pequenas poças de água de cheiro nauseabundo e penetrante, vencendo esse odor estonteante que faz até arder os olhos e que, como se sabe, constitui característica inseparável de todos os andares interiores das casas de S.Petersburgo – subindo a escada, meditava Acaqui Acaquievich naquilo que podia pedir-lhe Petrovich, e a si mesmo jurava não dar mais de dois rublos. A porta estava aberta. A mulher do alfaiate cozinhava peixe e provocara tal fumarada na cozinha que não era sequer possível descortinar as baratas. Acaqui Acaquievich passou junto da cozinha sem que a mulher o notasse e chegou ao quarto, onde encontrou Petrovich sentado sobre uma grande mesa de madeira, com as pernas cruzadas como um paxá. Estando de pés descalços, como é costume entre sapateiros quando estão a trabalhar, despertavam atenção, pelo seu tamanho, os artelhos, bem conhecidos de Acaqui Acaquievich, com as unhas enormes, espessas e fortes como carapaças de tartaruga. Em volta do pescoço tinha fios de linha e de seda e, estendidos nas pernas, farrapos velhos de variadas cores. Havia três minutos já que tentava enfiar a agulha, sem o conseguir, e por isso praguejava exaltadamente contra a obscuridade e contra a maldita linha, gritando em altos berros: "A imbecil não entra na agulha! Esta maldita cai-me das mãos!"
Era para Acaqui Acaquievich extremamente desagradável chegar ali no momento exacto em que Petrovich experimentava um tal assomo de cólera: preferiria encarregá-lo do trabalho noutra hora, quando tivesse perdido a fúria ou, como dizia a mulher, quando esse diabo torto estivesse adormecido pela aguardente. Nessas ocasiões, Petrovich mostrava-se relativamente afectuoso e aquiescente, chegando mesmo a conceder um cumprimento ou a agradecer. A mulher vinha, é claro, acto contínuo, a chorar, dizer que o marido estava embriagado e que, por isso, ajustara o trabalho por uma ninharia; mas, juntando dez copeques ao preço estipulado, o assunto ficava resolvido.
Neste momento, Petrovich encontrava-se, segundo parecia, num dos seus dias de temperança, e, por conseguinte, rígido, pouco falador e disposto a pedir preços exorbitantes. Compreendendo-o, Acaqui Acaquievich ainda pensou em retroceder, sem ser visto; mas era demasiado tarde. Petrovich virou para ele o seu único olho e Acaqui Acaquievich disse, sem querer:
- Bom dia, Petrovich!
—Muito bom dia, cavalheiro! —replicou Petrovich, desviando o olho em direcção às mãos de Acaqui Acaquievich, a ver que bela prenda lhe traria.
- Venho a tua casa, Petrovich, efectivamente...
Convém saber que Acaqui Acaquievich se exprimia quase sempre mediante partículas gramaticais sem qualquer significado. Se o assunto era muito complicado, tinha por costume não terminar a frase, de modo que os elementos principais da oração eram precedidos das palavras "coisa, com efeito, absolutamente...", e calava-se depois, supondo ter já dito tudo quanto pretendia.
- Quê? Vamos lá a ver... - interpôs Petrovich, observando naquele instante, com o seu único olho, toda a fatiota, desde a gola às mangas, desde as costas às pernas das calças, tudo tão seu conhecido, como produto da virtuosidade das suas mãos. Era o que, como um verdadeiro alfaiate, fazia antes de mais conversa.
- Pois eu, o caso é este, Petrovich... este capote, o pano... como vês, está ainda em boa condição em todos os lugares... um pouco puído, é certo, e com aspecto de velho, embora seja novo ainda, afora neste lugar um rasgãozinho, uma coisa pequena aqui... nas costas... e também aqui... no ombro, um pouquinho gasto. E só isto, vês? Não é grande coisa.
Petrovich pegou no capote, estendeu-o em cima da mesa, examinou-o durante largo tempo, abanou a cabeça e estendeu a mão para uma velha caixa de rapé que tinha na tampa o retrato de um general, cujo nome não é possível precisar por a sua fisionomia estar suja dos dedos do possuidor. Depois de tomar uma pitada, Petrovich pôs o capote contra a luz e voltou a abanar a cabeça: tornou a pegar na caixa que tinha o general na tampa e, introduzindo o rapé no nariz, fechou-a e pô-la de lado, dizendo finalmente:
- Não, não tem conserto; isto é um monte de trapos.
Ao ouvir estas palavras, a Acaqui Acaquievich oprimiu-se-lhe o coração.
- Por que dizes isso, Petrovich? - murmurou ele quase implorativamente, com a sua voz infantil. - Só está um pouco puído aqui nos ombros, mas tu, certamente, hás-de ter algum pedaço que...
- Não seria essa a dúvida, ainda tenho dessa fazenda - disse Petrovich. - Mas a dificuldade reside no cosê-lo; está completamente podre, tão podre que não aguenta a linha.
- Podes aproveitá-lo, cosendo uns remendos por cima.
- Uns remendos por cima! Mas não se segura numa fazenda neste estado! O próprio vento é capaz de o arrancar.
- Nesse caso, reforça então a fazenda por dentro, e ficará bem...
- Não. - objectou Petrovich com decisão - nada se pode fazer. O melhor, visto que se aproxima agora o maior frio do Inverno, será você fazer umas polainas desta fazenda. Sempre lhe resguardarão as pernas melhor do que as meias, que são apenas invenção dos Alemães para ganhar dinheiro. (Agradava a Petrovich aproveitar a ocasião para insultar os Alemães.) Quanto ao capote, o melhor é mandar fazer um novo.
Ao ouvir a palavra "novo", toldaram-se os olhos de Acaqui Acaquievich, que começou a ver andar à roda de si tudo quanto se encontrava naquela sala. Só via claramente a figura do general na caixa do rapé.
- Novo? - dizia como em sonho. - Desgraçadamente, não tenho dinheiro para tal.
- Sim, novo - repetia Petrovich com uma calma brutal.
- E, sendo novo, a quanto montaria?
- Quanto custaria?
- Sim.
- Teria de gastar uns cento e cinquenta rublos - disse Petrovich, cerrando os lábios.
Era partidário dos efeitos fortes; agradava-lhe desconcertar por completo alguém e lançar um olhar de soslaio para observar a cara do assustado ao ouvi-lo.
- Cento e cinquenta rublos pelo capote! - exclamou o pobre Acaqui Acaquievich, sendo talvez este o primeiro grito desde que nasceu, já que, geralmente, se conservava em silêncio.
- Naturalmente - afirmou Petrovich. - E isso conforme seja o capote. Se levar gola de marta e bandas de seda, sobe a uns duzentos.
- Por Deus, Petrovich! - disse Acaqui Acaquievich com voz suplicante, sem escutar nem pretender considerar as palavras de Petrovich ou os seus efeitos. Arranja-me este como puder ser, para que ainda me sirva algum tempo.
- De modo nenhum; seria perder trabalho e dinheiro - respondeu Petrovich.
Depois de ouvir aquelas palavras, Acaqui Acaquievich saiu, acabrunhado. Petrovich viu-o caminhar pela rua e permaneceu largo tempo de pé, com os lábios cerrados, sem fazer caso do trabalho, tal era o seu contentamento por não se ter rebaixado nem traído a sua nobre arte de alfaiate.
Quando Acaqui Acaquievich chegou à rua, encontrava-se como num sonho.
"Alguém já viu semelhante coisa?", dizia ele com os seus botões, "Nunca pensaria que podia chegar a tal..." E logo, após um silêncio, acrescentou: "Ora aí está! Cheguei finalmente a isto! Nunca teria suposto que fosse assim." E, depois de outro largo silêncio, voltou a exclamar: "Assim é, pois! Já não há esperança possível... Acabou-se... As circunstâncias requerem-no!"
E, dito isto, em vez de ir para casa, seguiu na direcção contrária, sem se dar de maneira alguma conta disso. Enquanto caminhava, roçou por ele um limpa-chaminés, que o sujou no ombro, e caiu-lhe também em cima um pedaço de argamassa de uma casa em construção. Não se apercebia de nada e, mais tarde, quando tropeçou contra um guarda municipal, e este, ao mudar a espingarda para tirar tabaco do bolso, despertou ao ouvir o mesmo admoestá-lo:
- Porque te metes debaixo do meu nariz? Não te chega a rua?
Aquilo obrigou-o a reflectir e a dirigir-se a casa. Só então lhe foi dado concentrar os seus pensamentos e viu com clareza a sua presente situação; começou a falar com os seus botões, sem a anterior incoerência, mas meditando com lógica, como se revelasse a um amigo inteligente o mais íntimo segredo do seu coração.
"Não", monologava Acaqui Acaquievich. "Não convém hoje tratar com Petrovich. Hoje, a mulher... deve ter-lhe dado uma sova. O melhor será voltar domingo de manhã: depois da bebedeira da véspera estará ainda com o olho pisco e sonolento, e, como precisa de voltar a beber e a mulher não lhe dá dinheiro, se eu lhe passar uns rublos para a mão, deixa-se convencer e conserta-me o capote."
Assim ia monologando e assim se ia animando Acaqui Acaquievich. Esperou até ao domingo seguinte e, depois de ver a mulher de Petrovich sair de casa, entrou com ar decidido.
Custava muitíssimo a Petrovich, com efeito, abrir o seu único olho depois do que bebera na véspera, e cabeceava, sonolento; mas, apenas soube do que se tratava, pareceu que se apossara dele o Diabo.
- Não pode ser! - disse. - Tem de se fazer outro novo.
Acaqui Acaquievich meteu-lhe uns copeques na mão.
- Obrigado, senhor. Agora poderei fortalecer-me um pouco à sua saúde - disse o alfaiate. - E não se preocupe você com o capote: não serve para nada. Far-lhe-ei um novo; e, quanto ao preço, havemos de entender-nos.
Acaqui Acaquievich preferia que ele lhe cosesse o velho, mas Petrovich não fazia caso das suas palavras e insistia:
- Far-lhe-ei um novo, com toda a perfeição; tenha confiança em mim, farei quanto puder. E, se for preciso, até lhe ponho botões de prata, pois agora estão na moda.
E Acaqui Acaquievich, vendo que não tinha outra solução senão fazer um capote novo, sentia um grande pavor na sua alma. Era necessário, tinha de ser, mas o dinheiro? Podia, certamente, contar com a gratificação que receberia nas próximas festas, mas esse dinheiro já estava há muito destinado. Necessitava fazer umas calças novas, pagar ao sapateiro uma dívida antiga de umas meias solas e, além disso, tinha de mandar fazer, sem falta, três camisas novas, duas das quais brancas; numa palavra, o dinheiro estava já destinado, e, ainda que tivesse um director compreensivo, capaz de conceder uma gratificação de quarenta e cinco ou cinquenta rublos, em vez de quarenta, o restante seria apenas uma insignificância para a soma de que necessitava para o capote - uma verdadeira gota de água no oceano. Sabia perfeitamente que Petrovich costumava fazer preços exorbitantes, de tal modo que até a mulher não podia conter-se e exclamava: "Mas tu estás com o juízo todo? Umas vezes aceitas o trabalho por nada, e agora atreves-te a pedir um preço que nem tu próprio vales." E sabia perfeitamente também que Petrovich acabaria por fazer-lhe o capote por oitenta rublos; entretanto, donde haviam de vir-lhe esses oitenta rublos? Metade ainda podia arranjar-se: metade, sim, e talvez um pouco mais; mas onde conseguir a outra metade? Antes de prosseguirmos, deve o leitor ficar a saber de onde lhe podia vir a primeira metade.
Acaqui Acaquievich tinha o costume de reservar uma pequena quantia por cada rublo que gastava num mealheiro pequeno e fechado, com uma larga abertura. Ao cabo de cada meio ano contava o dinheiro em cobre e trocava-o por moedas de prata. Assim procedera durante muito tempo, e, desta maneira, ao fim de alguns anos reunira uma soma superior a quarenta rublos. A metade, por conseguinte, encontrava-se nas suas mãos; mas a outra metade? Onde obter os outros quarenta rublos? Acaqui Acaquievich pensava, pensava, e chegou à conclusão de que o único recurso era reduzir até ao extremo possível todos os gastos ordinários durante um ano, abolir o hábito de tomar chá à noite, não acender a luz e, quando precisasse de copiar qualquer coisa, ir ao quarto da patroa e trabalhar à luz da sua vela; ao caminhar pela rua, fazer por andar o mais cuidadosamente possível e evitar as pedras ou pedaços de ferro, para não gastar rapidamente as solas dos sapatos; dar à lavadeira a roupa branca com a menor frequência possível e, para que se não gastasse, tirá-la logo ao chegar a casa e substitui-la pela camisola de dormir, que era de algodão, muito velha, e não podia durar muito mais.
Para dizer inteiramente a verdade, consignaremos que, a principio, lhe custou muito habituar-se a todas estas privações, mas depois, uma vez acostumado, chegou até a suprimir a refeição da noite; em compensação, alimentava-se espiritualmente, pensando no seu futuro capote. A partir daí pareceu encontrar um complemento do seu ser, como se fora casar, ou como se se sentisse outro, como se não estivesse sozinho na vida, como se tivesse encontrado uma companheira que aceitasse seguir juntamente com ele pela estrada da vida; ora esta companheira não era outra senão o seu capote, de grosso forro, sem a menor passagem. Tornou-se mais animado e de carácter mais firme, como um homem que se propôs um fim determinado. Do seu rosto e até dos seus passos desapareceram a dúvida e a indecisão. No seu olhar aparecia mesmo um certo lampejo; no cérebro passavam-lhe, como relâmpagos, pensamentos audazes e temerários: "Por que não havia de pôr a gola de marta?" Com estas ideias tornou-se um tanto distraído. Uma ocasião, ao copiar um ofício, esteve a ponto de fazer um erro; quase gritou em voz alta "ai!" e fez o sinal da cruz. Uma vez por mês, pelo menos, visitava Petrovich, com o propósito de lhe falar acerca do capote: onde conviria comprar a fazenda, de que cor e a que preço sairia; e, embora um pouco preocupado, voltava sempre satisfeito a casa, pensando que em breve chegaria o momento de comprar tudo o que era necessário e ter pronto o capote.
O caso resolveu-se ainda mais rapidamente do que ele pensava. Contra toda a sua expectativa, o director concedeu-lhe não só quarenta ou quarenta e cinco, mas sessenta rublos. E esta circunstância apressou o caso. Dois ou três meses mais de pequenos jejuns e Acaqui Acaquievich reunia exactamente oitenta rublos. E o seu coração, normalmente tranquilo, começou a bater fortemente.
Logo no primeiro dia dirigiu-se, com Petrovich, a um armazém. Compraram uma fazenda muito bonita e que não era cara, porque estes tinham sido os seus pensamentos durante os últimos seis meses, e não se teria passado um mês sem que tivesse ido ao armazém informar-se dos preços. Mestre Petrovich asseverava, pelo seu lado, que não havia melhor fazenda. Escolheram um forro de seda indiana, tão bom e tão forte que, no dizer de Petrovich, dificilmente poderia encontrar-se seda que lhe fosse superior no aspecto e no brilho. Não compraram marta porque, com efeito, o preço era exorbitante; mas escolheram, em compensação, pele de gato, a melhor que havia no armazém de pelagem, tão fina que, de longe, qualquer um a tomaria por marta. Petrovich ocupou-se duas semanas completas na feitura do capote: era preciso pespontar muito; doutro modo tê-lo-ia terminado antes. Pelo seu trabalho cobrou ele doze rublos, e menos não podia levar: tudo fora cosido com costura dupla e em cada uma delas recorrera Petrovich à ajuda dos seus próprios dentes.
Foi - não é fácil precisar qual, mas é quase certo - o dia mais solene da vida de Acaqui Acaquievich aquele em que, por fim, Petrovich lhe trouxe o capote. Trouxe-o numa manhã, no instante preciso em que Acaqui Acaquievich ia a sair, para a repartição. Em nenhuma outra altura teria sido mais oportuno, pois já o frio começara a fazer-se sentir com intensidade e ameaçava vir ainda a ser mais agreste. Apareceu Petrovich com o capote, como convém a um bom alfaiate. Via-se no seu rosto uma expressão tão orgulhosa como Acaqui Acaquievich jamais vira. Parecia sentir com intensidade que a sua obra não era nenhuma pequenez e que existia um abismo de diferença entre os alfaiates que só põem remendos e os que confeccionam roupa nova. Desembrulhou a obra (que trazia envolta numa toalha de chita, que dobrou e meteu cuidadosamente no bolso). Uma vez destapado o capote, mirou-o com grande satisfação, segurando-o com ambas as mãos, colocou-o habilmente nos ombros de Acaqui Acaquievich e esticou-o muito cuidadosamente, sem o abotoar. Acaqui Acaquievich, como homem experiente, desejara verificar o comprimento das mangas; Petrovich ajudou-o, vendo-se logo que também estas ficavam a primor. Numa palavra, o capote estava feito com irrepreensível correcção. Petrovich não perdeu a oportunidade de dizer que aquilo só era possível por viver, sem tabuleta, numa rua tão modesta; demais a mais já há muito sabia Acaqui Acaquievich porque lhe cobrara tão barato; se fosse um alfaiate da Avenida do Neva, teria cobrado, só pelo trabalho, setenta e cinco rublos. A Acaqui Acaquievich não agradava falar mais deste assunto com Petrovich, a tal ponto temia aquelas formidáveis quantias com que este o assaltava!
Pagou-lhe, agradeceu-lhe e, envergando já o seu capote novo, dirigiu-se à repartição. Petrovich seguiu-o e, parando a meio da rua, contemplou demoradamente a sua obra, e até passou para o outro lado, adiantou-se e voltou para trás, para observar de novo o capote de frente. Entretanto, Acaqui Acaquievich caminhava com um ar exuberante. Sentia a todo o momento que levava aos ombros um capote novo e, até, por diversas vezes, sorriu de íntimo prazer. Experimentava, com efeito, duas vantagens: a primeira, sentir mais calor; a segunda, sentir-se outro. Não se demorou pelo caminho e chegou rapidamente à repartição; entregou o capote ao porteiro e, olhando à direita e à esquerda, recomendou-o ao seu especial cuidado.
Não se sabe de que maneira, o certo é que correu, sem demora, por toda a repartição que Acaqui Acaquievich tinha um capote novo e que a velha capinha desaparecera. Todos correram à portaria a admirar o novo capote de Acaqui Acaquievich. Desataram a felicitá-lo e deram-lhe as boas-vindas, de tal maneira que ele começou por sorrir de contentamento e acabou por se envergonhar. Quando o rodearam todos, dizendo que era preciso molhar o capote novo e que, pelo menos, tinha de lhes pagar uma bebida, Acaqui Acaquievich perdeu a calma sem saber que responder nem como defender-se. Afirmava, muito corado, que não era um capote novo, mas velho. Por último, um dos funcionários, ajudante do chefe, talvez para demonstrar que não era orgulhoso e que sabia tratar com os inferiores, disse:
- Pois, então, fá-lo-ei eu em vez de Acaqui Acaquievich, e convido-os a tomar hoje o chá em minha casa; até calha bem, por ser o dia do meu aniversário.
Os funcionários, como é de supor, felicitaram o ajudante do chefe e aceitaram o seu convite. Acaqui Acaquievich quis desculpar-se, mas todos o increparam, dizendo-lhe que era um malcriado, que devia envergonhar-se daquela incorrecção, e isto de maneira tal que não pôde escusar-se. Por outro lado, agradava-lhe pensar que iria ao chá com o seu capote novo.
Todo aquele dia pôde considerar-se como de festa para Acaqui Acaquievich. Voltou a casa na mesma disposição de espírito, tirou o capote e pendurou-o cuidadosamente; regozijou-se mais uma vez com a qualidade da fazenda e do forro e até vestiu o capote velho para fazer a comparação. Ao ver-se, sorriu: tão grande era a diferença! E ainda muito depois de comer ele se sorria, e mal pensava nas novas possibilidades de vida que o capote lhe proporcionava. Comeu alegremente, não escreveu nem o mais insignificante papel e, com voluptuosidade, deitou-se na cama até ao escurecer. Logo, sem mais demora, se vestiu e, com o capote pelos ombros, saiu para a rua. Sinto não poder dizer onde habitava o funcionário anfitrião: a minha memória começa a fraquejar e os nomes das ruas de S.Petersburgo misturaram-se-me de tal maneira na cabeça que me é muito difícil ordená-las. Seja como for, o facto é que vivia numa das melhores artérias da cidade, bastante longe de Acaqui Acaquievich. Teve este de seguir primeiramente através de ruas solitárias, de iluminação escassa; mas, à medida que se aproximava do domicílio do funcionário, as ruas eram mais animadas, a iluminação maior e mais intensa; os viandantes iam e vinham, mais frequentes, multiplicavam-se as mulheres elegantemente vestidas; os homens levavam golas de pele de castor; quase não se viam já os bancos de madeira esburacada; os cocheiros, de libré dourada e gorro de veludo carmesim, sobre os trenós envernizados e forrados de peles, vagueavam pelas ruas... Acaqui Acaquievich admirava tudo aquilo como uma novidade; há muitos anos que não saía à noite. Cheio de curiosidade, deteve-se diante de uma montra para ver o quadro de uma mulher belíssima a descalçar um sapato, mostrando assim toda a perna escultural; por detrás dela assomava a uma porta um sujeito de patilhas e com uma bonita barba ao gosto espanhol. Acaqui Acaquievich abanou a cabeça, sorrindo, e prosseguiu o seu caminho. Porque sorria ele? Talvez por lhe serem desconhecidas todas as pessoas com quem cruzava, ou talvez por um sentimento oculto em relação a esse ambiente, ou então porque pensava como pensam funcionários: "Vá! Estes Franceses! O que se diz! Que inveja causa! Há que ver, precisamente e tal!...", ou então seria isto que pensava: que não é possível perscrutar a alma de um homem e apreender tudo quanto pensa. Chegou por fim à casa em que habitava o ajudante do chefe. Este vivia à grande: a escadaria era iluminada por um magnífico candelabro; a habitação ficava no segundo andar.
Ao entrar na antecâmara, Acaqui Acaquievich viu uma fila de taças. Entre estas, a meio do compartimento, fervia um samovar, que espargia volutas de vapor. Pelas paredes estavam pendurados os vários capotes e agasalhos, alguns dos quais tinham golas de castor ou de veludo. Ouviam-se por detrás da parede ruídos e diálogos, que se tornaram mais próximos quando um criado abriu a porta e saiu com chávenas e taças vazias, uma compoteira e uma bandeja com pastéis. Concluía-se que os funcionários se encontravam reunidos já há algum tempo e que acabavam de tomar a primeira chávena de chá. Acaqui Acaquievich despiu o capote sozinho e penetrou no salão; ante ele resplandeceram as velas, os funcionários, os cachimbos, as mesas de jogo, e surpreenderam-no confusamente os diversos ruídos; ouvia-se em todas as direcções rumor de conversas e movimentos de cadeiras. Permaneceu atónito no centro do salão, pensando no que devia fazer. Mas já tinham reparado nele; rodearam-no, com alguns gritos, e levaram-no à antecâmara, para que lhes mostrasse o capote. Acaqui Acaquievich encontrava-se um tanto aflito, mas, como homem de bom coração, não pôde deixar de alegrar-se ao ver como todos elogiavam o seu capote. Depois, claro está, deixaram-no a ele e ao seu capote e voltaram para as mesas de jogo.
Tudo aquilo - ruído, conversação, grande número de convivas - era para Acaqui Acaquievich como que um sonho. Não sabia verdadeiramente o que experimentava, nem onde havia de colocar as mãos, os pés, o seu próprio ser; por último, aproximou-se dos jogadores, olhou as cartas, contemplou ora um, ora outro, e pouco depois começou a bocejar, sentindo que se aborrecia, tanto mais que havia passado há muito a hora a que costumava deitar-se. Quis, por conseguinte, despedir-se do dono da casa, mas não lho consentiram, alegando que tinha de beber uma taça de champanhe em honra do novo elemento da sua indumentária. Uma hora mais tarde foi servida a ceia, composta de fiambre, vitela, empada, pastéis e champanhe. Acaqui Acaquievich teve de beber duas taças, sentindo que, depois delas, se tornava ainda mais alegre e ruidoso tudo quanto o cercava; entretanto, não se esqueceu de que dera já a meia-noite, e, portanto, muito tarde para estar fora de casa. A fim de que ninguém o obrigasse a permanecer ali, saiu silenciosamente do salão e procurou o seu capote, que, não sem íntimo desgosto, encontrou caído no chão; apanhou-o, sacudiu-o, limpou-o, pô-lo pelos ombros, desceu as escadas e encontrou-se ao ar livre.
Na rua tudo estava iluminado. Algumas tabernas (que são os clubes dos porteiros e gente parecida) achavam-se ainda abertas; das outras, já fechadas, saíam longos feixes de luz por entre os interstícios das portas, mostrando que não estavam sem freguesia, criados certamente que se entretinham a falar e a dizer mal dos patrões. Acaqui Acaquievich caminhava com alegre disposição de ânimo e quase se sentiu capaz de correr atrás de uma dama que passou veloz por diante dele, dama cujo corpo se lhe afigurou extraordinariamente flexível. Dominou-se, no entanto, e prosseguiu muito lentamente, admirado de si próprio. Em breve se estenderam ante ele as ruas desertas, onde de dia não se notava alegria alguma, quanto mais de noite. Apareciam-lhe agora mais profundas e isoladas, luziam os candeeiros cada vez menos, porque já o azeite se ia esgotando; começavam a surgir as casas de madeira dos bairros mais pobres; em parte alguma se via vivalma; a única luz era agora a que reflectia a neve do chão; e sobre a neve recortavam-se lugubremente as sombras das baixas choupanas, de janelas cerradas. Aproximava-se do lugar em que a rua terminava numa praça enorme, mal se podendo ver as casas do outro lado, como se se tratasse de um terrível deserto.
Ao longe (só Deus sabe onde!) brilhava o fogo de alguma guarita, que parecia encontrar-se nos confins do mundo. A boa disposição de Acaqui Acaquievich já passara. Penetrou na praça, não sem certo terror, como se o seu coração pressentisse perigo. Olhou para trás de si e para o lado; em volta via-se apenas o espaço deserto. "É melhor não olhar", pensou. Continuou a avançar, de olhos fechados. Quando os abriu, para ver se estava já próximo do outro extremo da praça, observou que tinha diante de si gente de bigode. Mas nada mais pôde distinguir. Toldaram-se-lhe os olhos e recebeu uma pancada no peito. "Este capote é meu!", disse um dos homens, agarrando-o pela gola. Acaqui Acaquievich quis ainda gritar: "Polícia!", mas o outro colocou-lhe a mão na boca e disse: "Desgraçado de ti se gritas!" O nosso herói só se deu conta de que lhe arrancavam o capote e de que lhe davam um violento pontapé. Caiu então de costas na neve e nada mais sentiu. Voltou a si minutos depois, mas já não viu ninguém. Sentindo a frialdade do chão e a falta do capote, começou a gritar; parecia entretanto que a sua voz se perdia naquela praça enorme e não atingia o outro lado. Desesperado, sem parar de gritar, pôs-se a correr em direcção à guarita, atrás da qual estava um soldado apoiado à sua arma; parecia perguntar-se, com curiosidade, quem diabo era aquele que vinha assim a correr e a gritar com voz humana. Acaqui Acaquievich chegou, ofegante, junto dele e começou, com voz aguda, a clamar que se tinha embriagado e que nada mais sabia senão que dois homens o tinham roubado. O soldado replicou nada ter visto; tinha observado apenas que dois homens o deixavam no meio da praça, mas supusera que eram seus amigos; acrescentou que, em vez de queixar-se ali, em vão, devia ir no dia seguinte à delegacia de polícia, onde por certo investigariam acerca de quem lhe roubara o capote.
Acaqui Acaquievich dirigiu-se para casa num estado lamentável: os cabelos, que ainda lhe restavam, em pequenas quantidades, nas têmporas e na nuca, totalmente desgrenhados; o peito, as costas e as calças cobertos de neve. A velha patroa, ao ouvir o tremendo ruído do batente da porta, saltou rapidamente da cama, calçando apenas uma meia, e foi a correr abrir aquela, segurando pudibundamente a camisola contra os seios; mal abriu, ao ver Acaqui Acaquievich, esqueceu o seu pudor. Quando o hóspede contou o que lhe sucedera, ela cruzou as mãos de espanto e disse ser preciso recorrer sem demora ao capitão da polícia, "porque o tenente nada mais faz que ouvir, fazer muitas promessas e dar tempo ao tempo"; melhor era ir directamente ao capitão, de quem ela tinha boas informações, pois Ana, que fora sua cozinheira estava agora de ama em casa dele. Acrescentou que o via muitas vezes, principalmente ao domingo, na igreja, onde rezava com muita devoção e, ao mesmo tempo, olhava amigavelmente para toda a gente, parecendo um homem bondoso. Depois de ouvir este conselho, Acaqui Acaquievich, amargurado, retirou-se para a sua habitação. Como ele passou a noite... compreendê-lo-á quem tenha capacidade de se imaginar na situação de uma outra pessoa.
Na manhã seguinte, muito cedo, dirigiu-se ao Comissariado, mas disseram-lhe que o capitão estava ainda a dormir; foi às dez e disseram-lhe outra vez: "Está a dormir"; foi às onze e responderam-lhe: "Não está"; à hora de comer... Mas os amanuenses não lhe consentiam de maneira nenhuma vê-lo, e queriam saber exactamente do que se tratava e o que acontecera; de maneira que Acaqui Acaquievich quis provar, uma vez na vida, que tinha energia e disse, com ar decidido, que precisava de falar ao inspector, que não consentia que lhe negassem a entrada, que vinha da repartição tal, do ministério tal, para tratar de um assunto de serviço, que se veria obrigado a apresentar reclamações contra eles e saberiam então como elas doíam. Contra isto não se atreveram os amanuenses a dizer nada e foram anunciá-lo ao inspector. Este tomou distraídamente nota do roubo do capote. Em vez de atender ao ponto principal da questão, começou a perguntar a Acaqui Acaquievich: "Porque voltava tão tarde a casa? Tinha passado a noite nalguma casa de perdição?" - de tal maneira que, ao sair, Acaqui Acaquievich não sabia já bem se lhe tinha ou não exposto o assunto do capote.
Faltou nesse dia ao serviço, pela primeira vez na sua vida. No dia seguinte apresentou-se pálido e com o antigo capote, que parecia agora muito mais esfarrapado.
A notícia do roubo - apesar de alguns funcionários aproveitarem a ocasião para novas zombarias - comoveu, no entanto, muitos. Resolveram fazer uma subscrição, mas o resultado foi insignificante: os empregados da repartição tinham subscrito já para o retrato do director e tinham comprado, por indicação do chefe, amigo do autor, um livro que acabara de publicar-se. Um, mais disposto a compadecer-se, decidiu, pelo menos, ajudar Acaqui Acaquievich com um bom conselho e disse-lhe que não devia ir à Inspecção, pois podia suceder que, mesmo que o inspector encontrasse o capote, este continuasse nas mãos da polícia, se não fosse capaz de demonstrar legalmente que lhe pertencia; melhor seria dirigir-se a uma "alta personalidade", com a mediação da qual pudesse dar-se mais rapidez ao andamento do caso.
Não pareceu mal a Acaqui Acaquievich tal conselho, e por isso decidiu dirigir-se a uma "alta personalidade". Convém saber que essa "alta personalidade" ascendera há pouco tempo, tendo sido, até aí, completamente ignorada. A sua posição, não sendo, aliás, das mais elevadas, comparada a outras, não era destituída de relevo. Sempre se encontrará gente disposta a apreciar estas personalidades que carecem de intrínseca importância e que, no entanto, são elevadas em relação a muitos. A personalidade a que nos referimos esforçara-se por se evidenciar de muitas maneiras, a saber: introduzira o costume de que os funcionários inferiores o esperassem na escada quando entrava de serviço e estabelecera que ninguém teria directo acesso à sua presença, devendo observar-se estritamente a ordem seguinte: o amanuense devia entregar a petição ao oficial; este, por sua vez, entregá-la-ia ao funcionário de categoria imediatamente superior, até chegar, de grau em grau, ao seu destino. Assim se encontra tudo infectado na santa Rússia pela imitação: julga cada um desempenhar bem o seu importante papel imitando o que lhe está acima. Diz-se até que certo conselheiro titular, quando o fizeram director de uma repartição modestíssima, fez separar, por um tabique, o seu gabinete daquilo a que ele chamava "o pessoal de serviço", pondo à porta dois contínuos agaloados, que abriam a porta a quem chegava: e convém saber que nesta importante secretaria de Estado pouco mais cabia que uma vulgar escrivaninha.
O modo de receber, assim como os gestos e hábitos da "alta personalidade", eram graves e majestosos, mas um tanto complicados. O fundamento principal do seu sistema era a disciplina. "Disciplina, disciplina e... disciplina", costumava ele dizer. E ao repetir pela terceira vez esta palavra fixava intensamente a pessoa a quem se dirigia, ainda mesmo sem o menor motivo para tal, pois os dez funcionários de que se compunha o mecanismo burocrático da repartição andavam sempre num verdadeiro terror. A conversação da "alta personalidade" com os inferiores recaía, em geral, no tema disciplina e compunha-se de frases deste género: "Como se atreve você? Sabe com quem está falando? Sabe bem quem é que se encontra diante de si?" Era, noutros aspectos, homem de bom coração, afável e até serviçal para os da sua classe; mas a patente de general fizera-lhe perder o senso comum. Desde que recebera a nomeação, andava desvairado, descontrolara-se e não se apercebia bem do que se passava nele próprio. Se tratava com iguais, era um homem correcto, ordenado, e até, sob muitos aspectos; inteligente, mas, apenas se encontrava num grupo de gente de situação social inferior, já não sabia onde tinha a mão direita: tornava-se hirto e silencioso e a sua situação era tanto mais digna de dó quanto é certo que ele era o primeiro a saber que poderia passar o tempo de maneira muito mais agradável. Transparecia, às vezes, nos seus olhos o desejo de entabular uma conversa interessante com os funcionários; mas paralisava-o este pensamento: "Não seria excesso da sua parte? Não seria excesso de familiaridade, com que a sua dignidade perigasse?" Como consequência de tais reflexões, permanecia eternamente só, impenetrável, limitando-se a emitir um ou outro monossílabo. Conquistou por esta razão o título de "o homem que se aborrece".
Foi perante esta "alta personalidade" que se apresentou Acaqui Acaquievich, precisamente no momento menos favorável, muito adverso para ele, embora o mais oportuno possível para a "alta personalidade", que nessa própria ocasião se encontrava no seu gabinete e dialogava muito alegremente com um antigo conhecido, companheiro de infância, a quem não via há vários anos. Tal foi o momento em que lhe anunciaram um tal Baquemaquine. Perguntou bruscamente: "Quem é?" Responderam-lhe que "um funcionário". "Bom, que espere; não tenho agora tempo", replicou a "alta personalidade". É preciso dizer-se que a "alta personalidade" mentia descaradamente. Tinha tempo; já acabara a conversa entre os dois amigos e estavam naquele ponto em que se recorre a frases desta espécie: "Assim era nesse tempo, Ivan Abramovich." "E como dizes, Estêvão Valarmovich." Entretanto, mandou que o funcionário esperasse, com o propósito de demonstrar ao amigo, há muito retirado do serviço oficial numa casinha da aldeia, quanto tempo tinham de esperar os funcionários na sua antecâmara. Finalmente, depois de terem falado quanto quiseram (ou, melhor dizendo, depois de terem calado o suficiente) e terem fumado um cigarro sentados nas comodíssimas poltronas, de repente, como se por casualidade se recordasse, disse ao secretário, que estava de pé, junto à porta, com uns papéis para informar: "Se ainda aí está esperando o funcionário, diga que pode entrar."
Vendo o humilde Acaqui Acaquievich, com o seu velho uniforme, voltou a cara de repente e perguntou: "Que deseja?", com o tom de voz brusco e forte que antes experimentara em casa para tais emergências. Acaqui Acaquievich, que era um homem muito respeitador, atrapalhou-se um pouco e, com a liberdade com que lhe era possível dispor da sua língua, explicou, juntando agora com mais frequência partículas desnecessárias, que o capote era completamente novo, que lho tinham roubado de um modo desumano, que se lhe dirigia para que interviesse, escrevendo ao inspector, fazendo aparecer o capote.
Pareceu ao general que tais maneiras eram demasiado familiares,
- Que é isso, senhor? - perguntou bruscamente. - Não conhece o regulamento? Donde vem? Não sabe como se procede em tais casos? A primeira coisa que devia fazer era dirigir um requerimento à secretaria; esse requerimento seria então remetido, pelas vias competentes, ao chefe de repartição; este, por seu turno, remetê-lo-ia ao secretário, e o secretário tê-lo-ia remetido a mim...
- Mas, Excelência... - disse Acaqui Acaquievich, esforçando-se por reunir a pouca força que encerrava a sua alma e sentindo que transpirava de modo atroz. - Eu, Excelência, atrevi-me a apresentar-me directamente, porque os tais secretários... é gente em que se não pode confiar...
- Quê?... O quê?... O quê?... - clamou a "alta personalidade"... - Onde foi o senhor buscar essa ideia? Donde lhe surgiram tais pensamentos? Que audácia se está generalizando entre os jovens contra os superiores e a hierarquia?
A "alta personalidade" demonstrava assim que não reparara em Acaqui Acaquievich, o qual estava já nos 50; doutra maneira, chamar-lhe jovem seria bastante estranho.
- Sabe com quem está falando? Sabe bem quem tem diante de si? Percebe isto? Percebe?, pergunto eu.
E deu uma forte patada no chão, imprimindo à voz tanta energia que mesmo um outro que não fosse Acaqui Acaquievich teria ficado bastante assustado. Este, porém, deveras aterrado, sentiu um abalo interior e começou a tremer convulsivamente; mal se podia aguentar de pé, e, se um empregado não acorresse a ampará-lo, teria caído ao chão; retiraram-no hirto do gabinete. Mas a "alta personalidade" estava contente com o efeito, que fora muito além de todos os seus cálculos. Embriagado com a ideia de que a sua voz forte era capaz de perturbar um homem até àquele ponto, olhou de lado para observar a impressão que fizera a cena, notando, não sem profundo prazer, que o amigo se encontrava na mesma situação indefinível e que até começava a sentir angústia.
Do modo como saíra do gabinete da "alta personalidade" e como chegara à rua, nunca Acaqui Acaquievich foi capaz de se recordar. Não podia fixar-se no que acontecera: jamais, em toda a sua vida, um general, e demais o vento e a neve fustigavam-no; seguia pelo meio da rua, com a boca aberta, perplexo; o vento soprava, soprava, como é habitual em S.Petersburgo soprar o vento nas quatro direcções, de todas as encruzilhadas. Em certo momento a garganta resfriou-se, começou a sentir os sintomas de uma angina e, quando chegou a casa, não tinha sequer forças para proferir uma palavra. Deitou-se na cama com o pescoço exageradamente inchado. No dia seguinte sobreveio uma febre altíssima. Graças à magnânima ajuda do clima de S.Petersburgo, a enfermidade progrediu mais rapidamente do que poderia esperar-se, e quando chegou o doutor tomou-lhe o pulso e entendeu que devia limitar-se a receitar qualquer coisa para o enfermo não morrer sem o benéfico auxílio da medicina; quanto ao mais, declarou que não viveria além de dia e meio; dirigiu-se à patroa, dizendo: "E a senhora não perca tempo: mande vir um caixão de pinho, pois um de mogno é muito mais caro."
Não sabemos se Acaqui Acaquievich ouviu essas palavras proferidas acerca da sua sorte; e, no caso de as ter ouvido, não sabemos se foram susceptíveis de o emocionar, porquanto permaneceu constantemente no delírio da febre. Visionava sucessivos conjuntos de memórias e de fantasias: ia visitar Petrovich e encarregava-o de lhe fazer um capote, mas com uma defesa contra os ladrões, que lhe surgiam sem cessar por baixo da cama, e pedia à patroa que lhe trouxesse um deles preso e coberto com a manta; logo perguntava por que lhe traziam um capote velho, quando possuía um novo; depois julgava encontrar-se diante do general, ouvindo os seus insultos, e dizia: "Perdoe Vossa Excelência"; por último praguejava nos termos mais grosseiros, de tal modo que a velha hospedeira se benzia e persignava, pois nunca tinha ouvido sair da boca dele tais palavrões, tanto mais quanto essas palavras eram contraditórias com as que anteriormente proferira, e principalmente com a expressão "Vossa Excelência". Começou depois a falar sem o mínimo sentido, de tal modo que era impossível perceber fosse o que fosse; só podia inferir-se que as expressões incoerentes dos seus pensamentos convergiam para um único e idêntico objectivo: o capote. Finalmente, o pobre Acaqui Acaquievich morreu. Não foi selada a habitação, nem coisa alguma arrolada; em primeiro lugar, porque não existiam sucessores, e, em segundo lugar, porque a sua herança era, realmente, muito pequena, a saber: um embrulhinho com penas de ganso, um livro de papel branco do usado nos ofícios, três pares de coturnos, dois ou três botões caídos das calças e o capote já nosso conhecido. Só Deus sabe para quem tudo isso ficou; supomos, aliás, que não interessa aos leitores este pormenor da nossa narrativa. Levaram Acaqui Acaquievich ao cemitério. E S.Petersburgo ficou sem Acaqui Acaquievich, como se nunca ali tivesse existido.
Desapareceu e ocultou-se um ser a quem ninguém protegera, a quem ninguém dedicara afeição e que nem sequer atraíra o interesse de qualquer naturalista, um desses indivíduos que não desdenham pôr num alfinete a mosca vulgar e observá-la ao microscópio; um homem que atraíra a zombaria dos seus companheiros de repartição e que desceu à sepultura sem ter realizado qualquer acto excepcional; antes pelo contrário, a quem nada importava, ainda que no fim da sua vida brilhasse para ele a luz sob a forma de um capote, reanimando um momento fugaz a sua pobre vida, e sobre quem caiu depois a desgraça em grau superior às suas forças, como cai também, por vezes, sobre os mais poderosos da Terra... Poucos dias depois da sua morte compareceu na sua residência um contínuo, enviado pela repartição, com ordem para se apresentar imediatamente; exigia-o o chefe; mas o homem teve de voltar sozinho, levando a informação de que o funcionário não podia apresentar-se. Tendo-lhe sido perguntado: "Por que não pode?", respondeu estas palavras: "Não pode: morreu; há quatro dias que o enterraram." Desta maneira se conheceu na repartição a morte de Acaqui Acaquievich, e no dia seguinte já estava sentado no seu lugar um novo funcionário, muito mais alto, que não desenhava as letras em linhas tão rectas, mas, pelo contrário, em linhas muito mais inclinadas e contrafeitas,
Mas quem poderia imaginar que ainda não dissemos tudo acerca de Acaqui Acaquievich, condenado a tornar-se famoso alguns tempos depois da morte, como recompensa de uma vida que passou ignorada? Sucedeu efectivamente isso, e a nossa pobre história tem uma abrupta conclusão.
Começou a difundir-se por S.Petersburgo o rumor de que na ponte de Kaliuquine, nas ruas vizinhas e nos bairros a que ela conduzia aparecia de noite um fantasma, com aspecto de funcionário público, que procurava um capote roubado e tirava capotes de todos os ombros, sem diferençar classes ou profissões: os de gola de pele de gato, de castor, de coelho, de raposa ou de qualquer outra espécie de pele. Um dos funcionários da repartição viu com os seus próprios olhos o fantasma e reconheceu imediatamente o defunto Acaqui Acaquievich; mas produziu-lhe este tal terror que se pôs acorrer quanto podia, sem se atrever a voltar a olhar para o fantasma, que o ameaçava com o dedo em riste. De todos os lados surgiam queixas de indivíduos a quem tinham desaparecido os capotes, e isso acontecia a titulares e também às altas gentes do Paço; muitos tinham-se até se resfriado em consequência do roubo. A polícia fez investigações para se apoderar do defunto, vivo ou morto, e castigá-lo severamente, para exemplo de outros, mas a diligência não resultou. Assim, por exemplo, um polícia de vigilância a uma das pequenas ruas de Kiriuquine, tendo agarrado o defunto pela gola (no momento em que este ia a roubar o capote de certo músico, que então tocava flauta) chamou em seu auxílio outros guardas de ronda, enquanto tirava do bolso a caixa de rapé para encher o nariz, que já lhe gelara seis vezes; mas o rapé devia ser de tal qualidade que nem sequer o morto pôde suportá-lo. Mal o polícia, fechando com o dedo a narina direita, meteu o rapé na narina esquerda, o defunto espirrou tão fortemente que lançou salpicos pelos olhos. E enquanto o polícia esfregava os olhos com as mãos, o defunto desaparecia. Chegaram a duvidar se, na verdade, o tinham tido na mão. Desde aí, os policiais amedrontaram-se tanto com as almas do outro mundo que não se atreviam a apanhá-las nem sequer vivas, e só de longe gritavam: "Olá, segue o teu caminho!"
E o funcionário defunto começou a aparecer também na ponte Kaliuquine, suscitando terror às pessoas tímidas.
Mas abandonamos por completo a "alta personalidade", verdadeira responsável porque a nossa história tenha tido um fim fantástico. Para honra da verdade, devemos dizer, antes de mais nada, que a "alta personalidade", depois da morte do pobre Acaqui Acaquievich, sentiu alguma compaixão. A piedade não lhe era completamente estranha; o seu coração sentia impulsos de muito boas acções; simplesmente a sua categoria não lhe permitia segui-los. Mal o amigo que o visitara saiu do seu gabinete, começou a pensar no pobre Acaqui Acaquievich. E desde então, muitas vezes, quase diariamente, evocava Acaqui Acaquievich, pálido, humilde, incapaz de reagir à sua repreensão. Aquela recordação causava-lhe tão grande intranquilidade que, decorrida uma semana, resolveu enviar um funcionário a casa de Acaqui Acaquievich para se informar do que havia, como estava e se nalguma coisa podia ajudá-lo. Ao saber que morrera de febre, de um dia para o outro, comoveu-se profundamente, escutou as censuras da sua consciência e esteve um dia inteiro de mau humor.
Desejando distrair-se e esquecer aquela desagradável impressão, foi, à noite, à casa de um amigo, o que se reflectiu de um modo admirável no seu estado de espírito. Esteve animada a conversa, que decorreu agradável e amistosa; numa palavra, passou a noite muito satisfeito. Ao cear, bebeu duas taças de champanhe, que, como se sabe, é um excelente meio de aumentar a alegria. O champanhe, modificando-lhe o humor, decidiu-o a ir visitar certa senhora sua conhecida, Catarina Ivanovna, uma alemã, segundo parece, com quem mantinha afectuosas e excessivamente íntimas relações. Devemos acrescentar que a "alta personalidade" não era já um homem novo e solteiro; era casado e todos o consideravam um honrado pai de família. Tinha um filho funcionário na Chancelaria e uma filha, bonita mocinha de 16 anos, com o nariz um pouco adunco, que vinha todos os dias beijar-lhe a mão, dizendo: "Bonjour, papa!" A esposa, que não se pode dizer que fosse velha ou feia, estendia-lhe a mão para que ele lha beijasse; depois, voltando-se para o outro lado, beijava-lhe ela, por seu turno, a mão. Mas a "alta personalidade", que se encontrava, aliás, plenamente satisfeito com as ternuras domésticas, achou, no entanto, muito importante, para se impor aos amigos, ter uma amante num bairro da cidade afastado daquele onde vivia. A amante não era nem mais nova nem mais fresca do que a esposa, mas estes enigmas existem no mundo, e não é nosso propósito esmiuçá-los. Assim, pois, a "alta personalidade" saiu de casa do seu amigo e, sentando-se na carruagem, disse ao cocheiro: "Para casa de Catarina Ivanovna"; e, embrulhando-se no seu quente capote, permaneceu nesse estado agradável, como não é possível imaginar melhor para um russo, em que nada se pensa e em que, entretanto, as ideias se agitam na cabeça, cada qual mais lisonjeira, sem haver o penoso encargo de as seguir ou coordenar. Toda a sua alegria consistia em recordar o sítio onde passara a noite e todos os ditos com que fizera rir às gargalhadas o restrito e amável círculo dos seus amigos; repetia a meia voz muitos desses ditos espirituosos e observava que conservavam toda a graça dos antigos tempos, não podendo assim deixar de rir-se sozinho com vontade.
Incomodou-o subitamente a ventania que se levantara, Deus sabe donde e porquê, fustigando-o fortemente no rosto, atirando-lhe flocos de neve aos olhos, bufando-lhe na gola do capote como na vela de um navio, ou, pelo contrário, colando-a inesperadamente à cara com força sobrenatural, de tal modo que se agitava constantemente de uma maneira e de outra, sem poder libertar-se. De repente sentiu a "alta personalidade" que alguém o agarrava muito fortemente pela gola do capote. Ao voltar-se, notou que era um indivíduo de pequena estatura, com um terno velho e coçado, e reconheceu, com terror, Acaqui Acaquievich.
O rosto do funcionário estava pálido e o olhar era bem o de um defunto. Mas o terror da "alta personalidade" não teve limites quando viu que a boca do morto se abria e, exalando um odor de sepultura, lhe dirigia estas palavras: "Sempre te apanhei! Agarrei-te finalmente pela gola! Preciso do teu capote! Não quiseste preocupar-te com o meu, e até me insultaste! Dá-me agora o teu!" A pobre "alta personalidade" por pouco não morreu de susto.
Era bem conhecida a sua severidade para com os inferiores e, considerando o seu aspecto enérgico, todos diziam: "Está ali uma personalidade!" No entanto, aqui, como muitos outros que posam de heróis, sentia tal pavor que, não sem razão, começou a recear cair doente. Ele próprio despiu o capote e disse para o cocheiro, com voz alterada: "Segue para casa! Sem demora!" Mal o cocheiro ouviu aquele tom de voz, que o amo só empregava nos momentos decisivos e que era acompanhado muitas vezes de alguma coisa de mais efectivo, ocultando a cabeça entre os ombros, brandiu o chicote e a carruagem partiu como um raio. Seis minutos depois achava-se a "alta personalidade" à porta da cocheira. Pálido, amedrontado e sem capote, em vez de visitar Catarina Ivanovna, entrou em casa, ocultou-se num quarto interior e passou a noite muito inquieto. No dia seguinte de manhã, à hora do café da manhã, a filha, ao vê-lo, disse imediatamente: "Como estás pálido, papai!"; mas o papai calou-se e a ninguém confessou palavra do sucedido, nem acerca do lugar onde estivera, nem onde se dirigira depois. Aquele sucedido impressionara-o fortemente. E muito poucas vezes mais lhe ouviram dizer: "Como se atreve o senhor? Sabe quem tem diante de si?"; e, se tal acontecia, nunca era sem se informar antes do que se tratava.
E o mais notável foi, todavia, que a partir daquele dia não voltou a aparecer o funcionário defunto: talvez porque o capote do general lhe ficava perfeitamente. O certo é que nunca mais se ouviu falar de um roubo de capote do mesmo género. Muitos, já se vê, não queriam ainda tranquilizar-se e contavam que em certos bairros da cidade mais afastados aparecia o funcionário defunto. Um polícia viu, com os seus próprios olhos, sair o fantasma de uma casa; mas, achando-se um tanto debilitado e falto de forças, não se atreveu a detê-lo e limitou-se a segui-lo de longe. O fantasma, em determinado lugar, deu uma volta, olhou o polícia e perguntou-lhe: "O que desejas?", mostrando um punho que não é possível observar nos seres vivos. O polícia replicou: "Nada", e voltou para trás. O fantasma, que era, no entanto, muito mais alto e tinha uns imensos bigodes, dirigiu-se com grandes passadas para a ponte de Obujo, desaparecendo nas trevas da noite.
Nicolai Gogol
A carta extraviada
Um dia, o sereníssimo hetmã lembrou-se de mandar uma carta para a Czarina. O escrivão do regimento (que o diabo o carregue) esqueci como se chamava! Era Viskriak, ou não? Motuzotchka, ou não? Goloputsek, ou não?... Como quer que seja, o que sei é que o seu nome era dificílimo. Enfim, o escrivão do regimento chamou meu avô e disse-lhe que o hetmã o encarregara de levar uma carta para a Czarina.
Meu avô não gostava de fazer preparativos demorados. Coseu a carta em seu gorro, arreou o cavalo, beijou a mulher e os dois (como ele os chamava) porquinhos, um dos quais era meu pai, e partiu levantando atrás de si tanta poeira quanta teriam levantado quinze malandros que estivessem jogando malha no meio da rua.
No dia seguinte pela manhã, ainda não cantara o galo pela quarta vez e meu avô já estava em Konotop. Realizava-se aí, então, uma feira: tão grande era a multidão que entupia as ruas, mas como ainda era muito cedo, todas as pessoas dormiam deitadas no chão. Junto a uma vaca, estava deitado um "parabok" gozador, de nariz vermelho como um pisco; mais adiante roncava, sentada junto a suas coisas, uma vendedora de pederneiras, de anil, de chumbo para fuzil e de "bubliki". Debaixo de uma carriola, estava deitado um cigano; sobre outra carriola carregada de peixe estava estendido o carroceiro; e, na estrada real, de pernas abertas, permanecia deitado o moscovita barbudo com um carregamento de cinto e de luvas... numa palavra, havia toda a espécie de pessoas que é costume encontrar nas feiras.
Meu avô parou para olhar em volta. As tendas começavam gradativamente a se animar: As judias arrumavam seus frascos, a fumaça subia em espirais aqui e ali e o odor das iguarias aquecidas espalhava-se por todo o acampamento.
Meu avô lembrou-se de que estava sem tabaco e sem estopa, e começou a procurá-los na feira. Mal dera vinte passos, encontrou um "zaporoga" um verdadeiro gozador; bastava olhá-lo para verificar-se isso.
Calças vermelhas como fogo, um "caftã" azul; um cinturão escarlate, e sobre a cintura, um cachimbo de piteira curta com uma correntinha de cobre que ia até aos pés, numa palavra, um verdadeiro "zaporoga". Ah! que rapagões! Como eles param, como se espreguiçam ao passar a mão pelos valentes bigodes, como fazem tinir as esporas e começam a dançar: Suas pernas giram com a velocidade de uma roca em mãos femininas! Fazem ressoar e depois, com as mãos nas cadeiras, atiram-se em "prissiadka" e entoam uma canção arrebatadora!... Não! passou-se o tempo. Não se verão mais "zaporogas"!
Então, meu avô encontrou um desses "zaporogas". Palavra puxa palavra, não lhes foi preciso muito tempo para se tornarem amigos. Começaram a tagarelar, a tagarelar a tal ponto que meu avô esqueceu inteiramente a sua viagem. Beberam tanto quanto num festim antes da quaresma.
Finalmente, cansaram-se de quebrar jarros e de espargir dinheiro pela multidão; aliás, a própria feira não podia durar eternamente; os dois novos amigos combinaram então não se separarem e prosseguirem juntos.
A tarde já ia adiantada quando eles se encontravam em pleno campo. O sol partiu para o descanso, só deixando aqui e ali, após si, algumas faixas avermelhadas. A campina, com seus prados multicores, lembrava os trajes festivos das moças de negras sobrancelhas. Uma tagarelice terrível dominou nosso "zaporoga"; meu avô, com outro gozador que se reunira a eles, já estava pensando que um diabo penetrara certamente nele. Onde ia o homem buscar histórias e contos tão engraçados que meu avô segurava as ilhargas e quase passou mal da barriga? Mas quanto mais caminhavam, mais aumentava a escuridão, e concomitantemente as narrativas do rapaz perdiam sua jovialidade. Afinal o contador calou-se inteiramente, e começou a estremecer ao menor ruído.
- Eh! eh! patrício. Vejo que estás seriamente entretido a contar as corujas. Já pensas em correr o mais depressa possível para casa e sentar-te de novo sobre a tua estufa!
- Pois bem! Não quero ocultar-lhes a coisa - disse de súbito o "zaporoga" - voltando-se para os companheiros e olhando-os fixamente. - Saibam que há muito tempo vendi minha alma ao maligno.
- E que importância tem isso? Quem, em sua vida, não teve algum negócio a resolver com os impuros? Esse é exactamente o caso em que é necessário, como se diz, folgar desabridamente.
- Eh! companheiros, bem que eu folgaria; mas acontece que o prazo expira justamente esta noite. Eh! irmãos - disse ele batendo-lhes nas mãos - ajudem-me, não durmam esta noite, jamais esquecerei, enquanto viver, esse favor.
Como não auxiliar um homem às voltas com tão grande desgraça! Meu avô declarou imediatamente que preferia que lhe cortassem a própria nuca a deixar o diabo farejar com seu focinho canino uma alma cristã.
Nossos cossacos talvez houvessem prosseguido o caminho, se a treva não envolvesse todo o céu como num manto negro e a treva não fosse tão densa nos campos quanto debaixo de um capote de pelo de carneiro. À distância brilhava apenas uma débil luz e os cavalos, sentindo próxima a estrabaria, aceleravam a andadura, com as orelhas erguidas e varando com os olhos a escuridão. A luzinha parecia caminhar ao encontro deles, em frente aos cossacos, surgiu uma pequena taverna, inclinada para o lado, como uma mulher ao voltar de um alegre baptismo.
Nessa época, as tavernas não eram o que são hoje. Um homem de bem não encontrava aí somente lugar para se pôr à vontade e dançar o "hopak", mas também para se deitar quando o vinho lhe pesasse na cabeça e suas pernas começassem a fazer ziguezagues.
O pátio estava cheio de carriolas de "tchumaks". Nos galpões, nas cavalariças, no vestíbulo, todos ressonavam como gatos, uns encolhidos, outros arreganhados. O taverneiro estava sozinho em frente ao lampião fazendo entalhes num bastão para marcar quantas medidas as cabeças de "tchumaks" haviam esvaziado.
Meu avô, após pedir o terço de um cântaro de aguardente para três, dirigiu-se para o galpão, onde ele e os companheiros se estiraram lado a lado. Ainda não tivera tempo para se voltar quando verificou que os companheiros já estavam dormindo a sono solto. Acordando o terceiro cossaco que se reunira a eles, durante o trajecto, meu avô lembrou-lhe a promessa feita ao companheiro. O homem levantou-se, esfregou os olhos e adormeceu novamente. Que fazer, a não ser resignar-se a montar guarda sozinho?
Para afugentar o sono, meu avô foi examinar todas as carriolas e certificar-se do que os cavalos estavam fazendo; depois acendeu o cachimbo voltou e sentou-se outra vez junto aos companheiros.
Tudo estava tão calmo que se poderia ouvir uma mosca voar. Eis que de repente ele vê qualquer coisa cinzenta mostrar uns chifres por cima de uma carriola que estava perto; ao mesmo tempo seus olhos começaram a fechar-se, de sorte que ele se pôs a esfregá-los continuamente com os punhos e lavá-los com a aguardente que restava; mal seus olhos ficavam desanuviados, tudo desaparecia, mas pouco depois o monstro se apresentava novamente atrás da carriola.
Meu avô arregalou os olhos o mais que pode, mas o maldito sono tudo baralhava à sua frente. Seus braços ficaram pesados, sua cabeça inclinou-se e dominou-o tão profundo sono que ele caiu como morto.
O avô dormiu por longo tempo; só quando o sol já havia aquecido muito a sua careca é que ele se levantou rapidamente. Após se haver espreguiçado duas vezes e coçado as costas, reparou que havia menos carriolas do que na véspera. Provavelmente os "tchumaks" haviam partido ao amanhecer. Olhou para onde estavam os companheiros: O cossaco lá estava e ainda dormia, mas o "zaporoga" desaparecera. Começou a interrogar as pessoas, mas ninguém sabia de coisa alguma. Somente a "sivitk" do "zaporoga" ficara no lugar onde ele estivera deitado.
Apavorado, meu avô reflectiu um instante. Foi ver os cavalos, mas não encontrou nem o seu, nem o do "zaporoga". "Que significaria isso? Admitamos que a força maligna se houvesse apoderado do "zaporoga"; mas quem levou os cavalos?"
Depois de reflectir muito tempo, o avô concluiu que o diabo viera e, como era longe o caminho para voltar ao inferno, furtara-lhe o cavalo. Ele estava muito pesaroso por não haver cumprido com a sua palavra de cossaco.
"Nesse caso - pensou - nada há que fazer! Irei a pé! Talvez encontre na estrada algum almocreve de volta da feira que me queira vender um cavalo."
Quis botar o gorro, mas o próprio gorro desaparecera. Meu finado avô juntou as mãos em desespero ao se lembrar de que na véspera o trocara pelo do "zaporoga". E então o impuro também o roubara! Não adiantava agora ele procurar em todos os bolsos. O hetmã havia mesmo de lhe dar presentes!... Ei-lo bem arranjado para levar a carta à Czarina! E meu avô pôs-se então a deblaterar contra o diabo, a tal ponto que as orelhas lhe deviam ter ficado a arder no recesso do inferno.
Mas as palavras não resolvem os impasses; não adiantou a meu avô coçar a nuca, não lhe acudiu coisa alguma. Que fazer? Ele recorreu então à inteligência dos outros. Reuniu todas as boas criaturas que estavam na taverna, "tchumaks" e outros viandantes, e contou-lhes sua desdita. Os "tchumaks" ficaram muito tempo a reflectir, com o queixo apoiado no cabo do chicote, depois baixaram a cabeça e acabaram dizendo que nunca tinham ouvido falar, em todo o mundo cristão, em alguma carta de hetmã roubada pelo diabo; outros acrescentaram que nada havia a esperar, quando um diabo ou um moscovita roubava alguma coisa. Só o taverneiro permanecia quieto em seu canto. O avô dirigiu-se a ele: "Quando um homem permanece calado é que tem muito engenho." Somente o taverneiro não era muito pródigo em palavras; e se meu avô não houvesse puxado do bolso cinco copeques, não lhe arrancaria uma única palavra.
- Vou ensinar-te a maneira pela qual poderás recuperar a tua carta - disse o homem afastando-se um pouco com meu avô.
Foi como se tirasse um peso de cima de meu avô.
- Já vejo em teus olhos que és um cossaco e não uma mulher. Pois bem! Ouve: Pertinho daqui há um caminho que dobra à direita e entra na floresta. Logo que a noite descer sobre os campos, prepara-te para partir. Na floresta existem ciganas que somente saem de seus esconderijos para forjar o ferro nas horas da noite em que somente as feiticeiras passeiam montandas em seus atiçadores. Qual é, de facto, sua verdadeira profissão? Isso não é contigo. Haverá muita bulha na floresta; apenas, não te dirijas para o lado aonde a ouvires. Chegarás em frente a uma veredazinha que passa junto a uma árvore queimada pelo raio; segue essa trilha, e caminha, caminha, caminha... As moitas espinhosas hão de te esfolar; densos matagais de aveleiras hão de barrar-te o caminho - mas continua a caminhar e quando chegares junto a um regato, só então é que poderás parar, e verás o que desejas. Também não te esqueças de botar nos bolsos a coisa para a qual eles são feitos... Compreendes, diabo ou homem, todos gostam dele...
Depois de assim falar, o taverneiro retirou-se para seu quarto e não quis dizer mais uma palavra.
Meu finado avô não era um poltrão. Quando lhe acontecia encontrar um lobo agarrava-lhe pela cauda; quando abria caminho entre os cossacos, com seus punhos, todos caíam à sua volta como peras. Contudo, um arrepio percorreu-lhe a espinha quando entrou na floresta naquela noite escura. Nem uma estrela no céu. Estava tão escuro e deserto como num subterrâneo. Só se ouvia lá em cima, muito acima da cabeça, o vento frio que passeava pelas copas das árvores, e estas, como outras tantas cabeças de cossacos bêbados, cambaleavam, como se fossem calaceiros, murmurando com suas folhagens arengas desconexas. Foi quando ele sentiu o frio aumentar e lamentou não ter trazido o seu capote de pêlo de carneiro que, subitamente, a floresta ficou iluminada como pela aurora, e ao mesmo tempo um fragor semelhante ao de cem martelos retumbou em seus ouvidos com tanta força que a cabeça lhe parecia estalar.
Meu avô depressa viu em sua frente uma vereda que serpenteava entre as moitas; a arvore consumida pelo raio também apareceu, bem como os arbustos espinhosos. Tudo era exactamente como lhe haviam dito. Não! O taverneiro não mentira. Mas não era nada fácil, nem divertido, abrir o caminho através das sarças. Aos poucos foi saindo desse lugar e chegou a local mais desolado onde, tudo quanto pôde notar, as árvores tornavam-se mais raras, mas ao mesmo tempo tão grandes que ele nunca encontrara iguais, nem mesmo do outro lado da Polónia.
Subitamente, entre as árvores, deparou-se-lhe um regato que brilhava com reflexos de aço, de um negrume azulado. O avô ficou muito tempo na margem, olhando para todos os lados. No lado oposto resplandecia um fogo que ora reavivar-se, reflectindo sua chama no regato que estremecia sob ela como um polaco subjugado por um cossaco.
Afinal, surgiu a pontezinha, Ah tem graça! Poderia acaso atravessá-la alguma coisa que não fosse a carruagem do diabo?
Não obstante, meu avô pisou na ponte animosamente e em menos tempo do que um tomador de rapé precisa para retirar uma pitada de tabaco e levá-la ao nariz, já se encontrava do outro lado. Só então foi que ele pôde verificar que ao redor do fogo havia homens de carantonhas tão atraentes, que em qualquer outra ocasião ele daria sabe Deus o que para evitar encontrá-los. Mas a situação não comportava recuos e era preciso entabular conversação.
Meu avô inclinou-se até quase a cintura e disse:
- Deus seja convosco, boa gente!
Ninguém respondeu sequer com um aceno de cabeça. Conservando o mesmo mutismo, derramaram qualquer coisa no fogo. Ao reparar que a havia um lugar vago, meu avô ocupou-o sem maior cerimónia. Ficaram muito tempo assim sem trocar palavra. Meu avô já estava começando a se entediar. Remexeu no bolso, tirou o cachimbo e tranquilamente, examinou as fisionomias dos companheiros. Ninguém lhe prestou atenção.
- Poderiam ter a bondade?... Como direi... de... (meu avô era educado e sabia como dizer as coisas; perante o próprio Czar não teria ficado embaraçado) de... de permitir que eu esteja à vontade sem ofendê-los com isso? Tenho muito fumo, um cachimbo, mas nada para acendê-lo.
Seu discurso ainda não obteve a menor resposta. Apenas uma carantonha adiantou-lhe um tição até ao rosto, de maneira tal que, se meu avô não afastasse a cabeça, teria podido despedir-se para sempre de um olho.
Vendo, afinal, que estava perdendo inutilmente seu tempo, decidiu-se ele - escutasse ou não aquela gente impura - a contar o seu caso. As carantonhas aguçaram então os ouvidos e adiantaram as garras. Meu avô compreendeu-as: Reunindo num só punhado todo o dinheiro que trouxera, atirou-o ao centro, num movimento circular, como se eles fossem cães. Mal atirou o dinheiro, tudo turbilhonou à sua frente; a terra tremeu, e como aconteceu isso? Nunca ele pôde explicá-lo, mas desceu até ao inferno.
- Oh! lá! lá! paizinho - exclamou olhando para todos os lados.
Que monstros viu então! Eram só as carantonhas e mais carantonhas, como se diz. Havia lá feiticeiras em quantidade não inferior à da neve que cai pelo Natal, todas enfeitadas, pintadas; pareciam moças na feira; e todas, todas que havia, dançavam como embriagadas, uma sarabanda qualquer do diabo! E que poeira levantavam! Um cristão tremeria só ao ver os saltos que eles davam.
Meu avô, apesar de todo o seu pavor, não pôde deixar de rir, ao ver de que maneira os diabos com seus focinhos de cão e sua compridas pernas de alemães, sacudindo o rabo, viravam ao redor das feiticeiras como rapazes junto às moças, enquanto os músicos, batendo nas bochechas com os punhos como se fossem pandeiros, faziam seus narizes assobiarem como flautas.
Mal avistaram eles meu avô, precipitaram-se todos em bando ao seu encontro. Focinhos de porco, de cão, de bode, de betarda, de cavalo, todos estendiam o pescoço e procuravam beijá-lo. Meu avô sentiu-se tão repugnado que cuspiu; afinal, agarraram-no e o fizeram sentar-se em frente a uma mesa tão comprida que iria perfeitamente de Konotop a Baturin.
"Muito bem! Ainda podia ser pior!" pensou o avô ao avistar em cima da mesa carne de porco, salsichão, cebola e repolho misturados, e muitas outras iguarias.
"Bem se vê que esse crápula de Diabo não observa o jejum da quaresma"
Preciso dizer-lhe que meu avô nunca perdia a oportunidade, quando possível, de mastigar qualquer coisa; o finado tinha bom apetite; por isso, sem perder tempo, puxou para si o prato onde estavam o toucinho e o presunto, apanhou um garfo quase tão grande quanto o forcado com que os mujiques espetam o feno, fisgou o pedaço maior, fixou com a mão uma côdea de pão debaixo do queixo e, no instante em que se dispunha a engolir o bocado, mandou-o, involuntariamente, para outra boca, e junto a seus ouvidos ouviu uma carantonha mastigar com um ruído de queixo que chegava às duas pontas da mesa.
Meu avô não disse palavra; espetou outro pedaço; já estava com ele entre os lábios, mas novamente a garfada foi para outra boca. O mesmo acontece na terceira vez. A cólera dominou meu avô; esquecendo o medo e as garras entre as quais se encontrava, avançou ameaçador para as feiticeiras.
- Mas como! Raça de Herodes! Estão pensando que vão continuar zombando de mim? Que eu me torne católico se não lhes virar pelo avesso as carrancas, caso não restituam imediatamente meu gorro de cossaco!
Mal acabou de proferir essas palavras, todos os monstros mostraram os dentes e desandaram numa tal gargalhada que o coração de meu avô se gelou.
- Está combinado - miou uma das feiticeiras que meu avô julgou ser a presidente, porque sua carantonha ainda era mais feia que a das outras - Nós te restituiremos o gorro... sob a condição de jogares connosco três partidas seguidas de "durak".
- Que fazer! Um cossaco jogar "durak" com mulheres! Meu avô a principio protestou, mas teve que ceder. Trouxeram cartas tão sebentas quanto aquelas com as quais a filha de um pope procura adivinhar qual será o noivo.
- Mas ouve - ladrou pela segunda vez a feiticeira - se ganhares, uma vez que seja, terás o gorro, porém se ficares "durak" todas as três vezes, não te deves queixar, nunca mais verá teu gorro, nem talvez o mundo!
- Dá mesmo assim as cartas, feiticeira, aconteça o que acontecer.
As cartas foram dadas; meu avô apanhou seu jogo - nem valia a pena olhar; pois se não recebera, por pilhéria que fosse, um trunfo sequer! Entre os outros naipes, a carta mais forte era um dez; nenhuma figura, enquanto a feiticeira jogava sempre as cartas altas. Meu avô teve que ficar "durak", e mal terminara a primeira partida, de todos os lados as caratonhas começaram a ladrar, a rinchar, a grunhir: "Durak", "durak", "durak!"
- Que a pele de vocês arrebente, raça do diabo - exclamou meu avô tapando os ouvidos.
"Vamos, pensou ele, a feiticeira trapaceou ao embaralhar as cartas; agora é a minha vez."
Deu, voltou a carta do trunfo, olhou seu jogo que era bom; também tinha trunfos; sem mais reflectir, bateu com esse trunfos nos bigodes dos reis.
- Eh! eh! não estás jogando como cossaco? Com que estás cobrindo minhas cartas, camarada?
- Como, com que? Com trunfos.
- Talvez em tua terra isso seja trunfo, mas aqui não.
Meu avô olhou as cartas e, de facto, eram de naipe comum.
Que velhacaria! - teve de ficar "durak" pela segunda vez e as impuras puseram-se novamente a gritar ensurdecedoramente: "Durak"!, "durak"!, "durak"!
A mesa tremia e cartas pulavam.
Meu avô cada vez mais se exaltava. Deu para a terceira partida. Como na anterior, as coisas começaram muito bem. A feiticeira exibiu cinco cartas.
Meu avô cobriu-as e apanhou, no baralho, toda uma mão de trunfos.
- Trunfo! - exclamou ele, batendo com a carta na mesa a ponto de voltá-la. A feiticeira, sem dizer palavra, cobriu-a com um simples oito.
- E com que estas cobrindo, velha diaba?
A feiticeira levantou a carta e meu avô viu que a dele não passava de um simples seis.
- Estão vendo essa trapaça infernal? - disse meu avô; e, despeitado, deu um soco fortíssimo na mesa.
Felizmente a feiticeira só tinha cartas desirmanadas, enquanto que meu avô tinha cartas que faziam par. Mostrou-as e, de novo, apanhou as cartas no baralho; mas todas eram tão ruins que lhe caíram os braços, e aquelas eram as últimas. Com um gesto de indiferença, deixou cair sobre a mesa um simples seis. A feiticeira apanhou-o.
- Ah! Tem graça, que significa isso! Alguma coisa está sendo tramada.
Meu avô pôs então disfarçadamente as cartas em cima da mesa e marcou-as com o sinal da cruz. E de repente em suas mãos os ás, o valete de trunfo; o que ele pensara ser um seis, era a dama do trunfo.
- Ah! Que imbecil fui eu! Queres o rei do trunfo? Ah, ah! ah! estás apanhando-o. Ah! sua gata! e o ás, também o queres? ás! valete!
A trovoada ribombou pelo inferno. A feiticeira debatia-se numa convulsão, e não se sabe de onde, bum! o gorro caiu na cara de meu avô.
- Não, isso ainda não me basta - bradou meu avô que recuperara a coragem e punha o gorro na cabeça - se, imediatamente, meu valente cavalo não se apresentar aqui em minha frente, seja eu estendido morto pelo raio, neste lugar impuro, caso não os esbofeteie a todos com a cruz.
Já erguia o braço, quando de repente estalou diante dele o esqueleto de seu cavalo.
- Eis teu cavalo.
O pobre homem chorou como uma criança ao olhar o esqueleto. Sentia falta de seu velho companheiro.
- Forneça-me então qualquer outro cavalo para sair de seu antro.
O diabo fez estalar o chicote: um cavalo de fogo surgiu debaixo de meu avô e levou-o como um pássaro para as nuvens. Entretanto, dominou-o o medo no meio do trajecto quando o cavalo, não atendendo a seus gritos, não obedecendo às rédeas, voou sobre os abismos e pantanais. Que lugares não viu ele? Tremia-se só de ouvi-lo contar. Quando ele se lembrava de olhar para baixo, avistava um abismo a pique, e aquele animal de Satanás, sem se inquietar, marchava directamente sobre ele.
Meu avô fazia todos os esforços para se sustentar, mas uma vez não conseguiu. Foi atirado num precipício e seu corpo bateu com tanta força no chão que ele já pensava estar morrendo, ou pelo menos, para falar a verdade, perdeu a noção do que estava passando; quando recuperou os sentidos e olhou em torno, já era dia e ele reconheceu os lugares que lhe eram familiares: estava estendido no telhado da sua própria "kasa".
Desceu e persignou-se.
- Que feitiçaria! Que coisas estranhas podem acontecer aos homens!
Olhou para as mãos, estavam ensanguentadas. Mirou-se no tonel cheio de água e viu que seu rosto também estava ensanguentado.
Depois de se lavar muito bem para não assustar os seus, entrou mansamente na "kata", e viu seus filhos andando de costas e mostrando-lhe com o dedo a mãe deles, dizendo:
- Olha, olha, a mãe está saltando como uma louca.
De facto, sua mulher estava sentada, adormecida em frente a seu torno de fiar, com a roca na mão e, em seu torno, estremecia sob o banco.
Meu avô tomou-lhe docemente a mão e acordou-a.
- Bom dia, mulher! Estás passando bem?
Ela, com os olhos arregalados, olhou-o longamente, e por fim, reconhecendo o marido, contou-lhe que, em sonhos, vira a estufa andar pela "kata" afugentando com a pá as caçarolas, as tinas e o diabo sabe mais o quê.
- Vamos - disse meu avô - tu só viste as diabruras em sono e eu acabo de vê-las realmente. Muito convicto estou de que será preciso mandar benzer nossa "kata". Quanto a mim, não tenho mais um minuto a perder.
Depois de rápido repouso, meu avô apanhou um cavalo e, desta vez, sem parar dia e noite, chegou a seu destino e entregou a carta à Czarina.
Em Petersburgo meu avô viu tantas maravilhas que durante muito tempo não lhe faltou o que contar: Como o conduziram a um palácio tão alto que nem dez "katas" colocadas umas sobre as outras o alcançariam; como atravessou um quarto sem encontrar ninguém, outro, ninguém, um terceiro ainda sem ninguém, ninguém ainda no quarto e somente no quinto é que olhou e viu a pessoa sentada com uma coroa de ouro, com sua "svitk" cinzenta, nova, de botas vermelhas a comer "galucki" de ouro; como a Czarina mandou que enchessem de cédulas azuis o gorro de meu avô; como... Mas seria um nunca mais acabar!
Quantos às suas rixas com o diabo, meu avô esqueceu-se mesmo de pensar nelas, e se acontecia alguém lembrá-las, meu avô conservava-se calado como se o caso não fosse com ele.
Para castigá-lo, provavelmente, por não haver, como dissera, feito benzer a sua "kata", todos os anos, exactamente no aniversário da aventura, acontecia à sua mulher o facto extraordinário de dançar involuntariamente. Não havia meio de evitá-lo. Estivesse cuidando do que fosse, suas pernas começavam a se mover e, Deus que me perdoe, acabavam executando as mais extravagantes cabriolas.
Nicolai Gogol
TAMAN
Taman é a pior cidadezinha que se pode encontrar em toda a costa da Rússia; estive por lá quase a morrer de fome e por lá tentaram afogar-me. Cheguei lá noite avançada, num carro de posta; o postilhão levou a fatigada troika à primeira casa de tijolo da cidade, junto das portas. O guarda, cossaco do mar Negro, ouviu o tilintar das campainhas e berrou com uma voz áspera e ensonada: «Quem está aí?» Depois saíram um sargento e um fiscal, a quem expliquei que era oficial, que ia para a frente em serviço e que desejava aboletar-me. O fiscal levou-nos pela cidade, mas todas as cabanas a que batemos estavam já cheias. A noite estava fria; eu já não dormia há três noites e sentia-me imensamente fatigado. Por fim, perdi a serenidade e gritei:
- Malandro, leva-me para onde quiseres, para o Diabo, se te apetecer, mas arranja-me cama!
- Ainda há por aí outro lugar - disse o fiscal coçando a nuca - mas naturalmente V. Exa. não quer... É pouco limpo...
Não compreendi logo o sentido exacto destas últimas palavras e disse-lhe que fôssemos imediatamente; depois de andarmos que tempos por vielas imundas, ladeadas só por casebres em ruínas, chegámos a uma cabana pequena e edificada mesmo junto do mar.
A lua cheia brilhava sobre a cobertura de canas e de colmo e sobre as paredes brancas da minha nova residência; no pátio, que era rodeado de um muro feito de pedras redondas, mal talhadas, estava outro casinhoto, inclinado para uma banda e mais velho e mais pequeno do que o primeiro. Os rochedos desciam quase no prolongamento das paredes e lá em baixo as vagas azul-escuras rebentavam com incessante murmúrio. A Lua parecia contemplar o inquieto elemento que lhe obedecia e à luz que dela vinha podia eu distinguir ao longe dois navios cujos perfis negros se esboçavam, como imóvel teia de aranha, sobre o fundo pálido do horizonte. «Há navios no porto - pensei eu; - já posso embarcar amanhã para Gelenzhik». A minha ordenança era um cossaco de linha; dei-lhe ordem para que tirasse do carro a maleta e pagasse ao cocheiro e ao mesmo tempo pus-me a chamar pelo dono da casa. Nem resposta. Bati - de novo o silêncio. «Que diabo quererá dizer isto?...» Por fim, um rapaz de uns catorze anos surgiu à entrada.
- O patrão?
- Não há patrão.
- Quê, patrão nenhum?
- Nenhum.
- E a patroa?
- A patroa foi à aldeia.
- Então quem abre a porta? - disse eu, atirando um pontapé. A porta abriu-se por si própria e da cabana veio um cheiro a bafio. Acendi um fósforo e cheguei-o à cara do rapaz; o fósforo iluminou dois olhos brancos. Era cego, completamente cego desde nascença. Estava de pé, diante de mim, sem se mover, e comecei a examinar-lhe as feições.
Devo confessar que tenho grande preconceito contra todos os cegos, os tolhidos, os surdos, os mudos, contra todos os que não têm pernas ou braços ou são corcundas ou têm qualquer outra deformação. Tenho notado sempre uma estranha ligação entre o exterior de um homem e o seu espírito; parece que com a perda de um membro ou de uma possibilidade também a alma perde uma parte da sua sensibilidade.
Principiei, portanto, a examinar a cara do moço; mas que se pode ver numa face sem olhos? Por muito tempo o contemplei com um involuntário sentimento de piedade; depois, subitamente, um sorriso quase imperceptível lhe passou nos lábios finos e, não sei porquê, provocou uma impressão muito desagradável. Entrou-me no espírito a suspeita de que o rapaz não era tão cego como parecia; e era inútil repetir-me a mim próprio que era impossível imitar uma catarata; de resto, que razões haveria para tal? Mas não podia deixar de haver a suspeita; como disse, tenho também os meus preconceitos.
- Tu é que és o filho da patroa? - perguntei por fim.
- Não, não sou.
- Então quem és?
- Um pobre órfão.
- A patroa tem filhos?
- Teve uma filha; mas embarcou com um tártaro.
- Que espécie de tártaro?
- Só o Diabo o sabe. Um tártaro da Crimeia, um marinheiro de Kertch.
Entrei na cabana; dois bancos, uma mesa, uma arca enorme perto do fogão constituíam a única mobília. Não havia nas paredes uma só imagem - mau sinal. Pelos vidros quebrados soprava o vento do mar. Tirei o resto duma vela de cera da maleta, acendi-a e comecei a arranjar as minhas coisas. Pus o sabre e a espingarda ao canto do quarto, as pistolas sobre a mesa e desdobrei a capa sobre um dos bancos; o cossaco pôs a dele em cima doutro. Ainda não tinham passado dez minutos, já ele ressonava; mas eu não podia dormir; via sempre o rapaz com os seus olhos brancos na escuridão.
Passou-se mais ou menos uma hora. A luz brilhava através da janela e os seus raios iluminavam o chão de terra da cabana. De repente, uma sombra cruzou a linha brilhante do chão. Sentei-me e olhei pela janela. Alguma coisa correu segunda vez e desapareceu, Deus sabe onde. Nem podia supor que esta criatura tinha corrido pelas rochas a pique, mas de facto não havia outro caminho. Levantei-me, vesti o dólman, prendi o punhal à cintura e deixei a cabana sem fazer barulho. O rapaz cego veio na minha direcção, com um grande volume debaixo do braço. Escondi-me junto da parede e ele passou, com um passo cuidadoso mas firme; voltando-se para o lado do porto, começou a descer uma vereda estreita e íngreme. «Então se abrirão os olhos dos cegos e cantarão as línguas dos mudos» - pensei eu, seguindo-o a distância, embora não o perdendo de vista.
A Lua escondeu-se nas nuvens, o mar cobriu-se de nevoeiro; o farol de popa do barco mais próximo mal se via da costa e a cada momento parecia que a espuma das vagas ameaçava apagá-lo. Com dificuldade desci a vereda íngreme e eis o que vi quando cheguei abaixo: o rapaz parou à borda de água, depois voltou à direita e seguia tão perto do mar que se tinha a impressão de que uma vaga o arrebataria. Era evidente que não fazia o caminho pela primeira vez, porque dava passadas audaciosas de pedra a pedra e evitava as poças de água. Por fim, parou; durante uns momentos esteve na atitude de quem escuta; em seguida, sentou-se no chão, com o fardo ao lado. Eu estava oculto atrás duma rocha que fazia saliência e espiava-lhe os movimentos. Poucos minutos depois, uma figura branca aproximou-se dele e sentou-se ao lado. De tempos a tempos, o vento trazia-me trechos da conversa:
- O tempo está muito mau. Janko já não vem - dizia uma voz de mulher.
- Janko não tem medo do mau tempo - respondia o rapaz.
- O nevoeiro cerrou mais - tornou a mulher num tom de pena.
- É mais fácil passar os guardas com nevoeiro - foi a resposta.
- E se se afoga?
- Bem, e se se afoga? Tens que ir domingo à igreja sem fita nova.
Depois, houve silêncio. Uma coisa me surpreendeu: o cego, quando me tinha falado, empregara dialecto, agora falava russo.
- Olha, quem tinha razão era eu - disse o cego batendo palmas. - Janko não tem medo do mar, nem do vento, nem do nevoeiro, nem dos guarda-costas. Ora ouve: não é o barulho das ondas... não me engano: são os remos.
A mulher, que evidentemente estava muito ansiosa, pôs-se de pé e olhou para o largo.
- Estás doido, rapaz; não vejo nada.
Devo dizer que também eu me esforçava por divisar ao longe qualquer objecto parecido com um barco, mas sem resultado. Passaram cerca de dez minutos e viu-se então uma pequena mancha entre vagas como montanhas; ora parecia aumentar, ora parecia diminuir. Subindo vagarosamente ao cimo das ondas, depois descendo rapidamente, o barco a pouco e pouco se aproximava da costa. «Deve ser ousado marinheiro quem se aventura a atravessar numa noite destas uma baía de trinta «verstas» e deve ser importante o negócio que o traz por cá» - pensava eu, com o coração palpitante ao contemplar o barco que lutava sempre. Mergulhava como um pato, depois, com uma rápida pancada dos remos que pareciam asas de uma ave, saltava das profundidades numa nuvem de espuma; julguei que bateria nas rochas da costa e se faria em bocados; mas não: virou de bordo com destreza e entrou sem avarias numa pequena abriga. Um homem de estatura média, com um barrete tártaro de pele de ovelha, saltou do barco e fez sinal aos outros; os três começaram a tirar não sei quê do barco e a carga era tão grande que ainda hoje não posso perceber como não afundou a embarcação. Cada um tomou o seu fardo, meteram à praia e cedo os perdi de vista. Tive de voltar à cabana, mas confesso que todas estas estranhas ocorrências me tinham indisposto de tal modo que não pude esperar pela manhã.
O meu cossaco ficou muito surpreendido quando, ao acordar, me viu já pronto; no entanto, nada lhe expliquei. Fiquei algum tempo à janela, a admirar o céu azul, como que semeado de fragmentos de nuvens. A costa distante da Crimeia alongava-se como uma linha de púrpura até acabar num promontório em cujo cimo se podia ver a torre branca de um farol. Depois fui à fortaleza de Fanagoria saber do comandante a hora da partida para Gelenzhik.
Infelizmente, o comandante nada me podia dizer de seguro; os navios que estavam no porto eram ou guarda-costas ou barcos mercantes que nem sequer tinham ainda principiado a meter carga.
- Talvez o barco do correio chegue daqui a três ou quatro dias; nessa altura, vê-se o que se pode fazer.
Voltei para a cabana aborrecido e maldisposto; à porta estava o cossaco, com uma expressão de temor.
- Isto não tem bom aspecto, Excelência! - disse ele.
- Pois não, amigo; e sabe Deus quando sairemos daqui.
Pareceu ficar ainda mais alarmado; inclinou-se e disse num murmúrio:
- Não estamos bem aqui. Esta manhã encontrei um sargento do mar Negro que eu conheço, estive no destacamento dele o ano passado. Disse-lhe onde estávamos e disse-me ele: «Aí não estão bem; isso não é boa gente...» Parece que há qualquer coisa. Que espécie de cego é este? Anda por aí sozinho, vai ao pão ao mercado, vai buscar água. Acho que por aqui todos estão habituados.
- Bem, e depois? E a patroa, ao menos, apareceu?
- Pois; quando o senhor saiu, entrou a velha, com a filha.
- Que filha? Ela não tem filha nenhuma.
- Então se não é filha, Deus saberá quem ela é. Mas, olhe: a velha está lá dentro.
Entrei na cabana; o fogão estava aceso e cozinhava-se um almoço bastante abundante, para o costume entre pobres. A todas as minhas perguntas, a velha respondia apenas que era surda e que não podia ouvir. Que havia eu de fazer? Voltei-me para o cego que estava junto do fogão a atirar lenha para o lume.
- Anda cá, diabo cego - disse-lhe eu, puxando-lhe a orelha - conta-me só onde foste levar aqueles fardos a noite passada.
De repente o rapaz começou a chorar e a gritar:
- Onde é que eu fui? Não fui a parte nenhuma! Que fardos? Sei lá nada de fardos...
Desta vez a velha ouviu e murmurou:
- Bonitas invenções. E dum aleijado. Largue-o lá, faz favor. Que lhe fez o rapaz?
Fiquei irritado com tudo isto e saí decidido a aprofundar aquele mistério.
Embrulhei-me na capa, sentei-me numa pedra junto da parede e olhei para o largo. Diante de mim estendia-se o mar, ainda bravo da tempestade da noite anterior, e o monótono ruído das vagas, como o som de uma grande cidade quando vai a adormecer, fez-me lembrar dias passados e levou meus pensamentos para o Norte, para a nossa fria capital. Perturbado pelas recordações, perdi-me em sonhos...
Assim passou uma hora, talvez mesmo mais. Subitamente, pareceu-me que uma canção me chegava aos ouvidos... E era realmente uma canção, entoada por uma voz fresca de mulher; mas donde vinha? Pus-me à escuta. A melodia era umas vezes arrastada e triste, outras ligeira e alegre, sempre harmoniosa. Olhei em volta, mas não vi ninguém. Escutei; pareceu-me que os sons vinham do Céu. Levantei os olhos: sobre o tecto da cabana estava uma rapariga com um vestido às riscas e o cabelo solto ao vento - como uma ninfa das águas. Com a mão fazia sombra aos olhos e fitava atentamente o largo; umas vezes, ria-se e falava consigo mesmo, depois voltava a cantar.
Lembro-me de todas as palavras da canção:
Pelas ondas inquietas
Do mar verde de cetim
Barquinhos de velas brancas
Velejam longe de mim.
Entre eles navega o barco
Que me vem a procurar,
Dois remos o vão guiando
Por sobre as águas do mar.
Abre a asa o navio grande
Mesmo no forte do vento
E segue a sua carreira
No balanço largo e lento.
Mas eu ajoelho e peço
Que a vaga se torne calma
E que eu veja são e salvo
O barquinho da minha alma.
Tesouros que ele me traz
Nem eu os posso contar!
Bendita a fronte e a mão
Que por vento e cerração
O trazem a navegar!
Involuntariamente me passou pela cabeça a ideia de que já tinha ouvido aquela voz na noite anterior. Durante um momento estive como em sonho e, quando olhei outra vez, já a rapariga lá não estava. De súbito, passou diante de mim a cantar em surdina outra melodia e, batendo os dedos, foi ter com a velha e principiou a discutir com ela. A velha estava zangada, a rapariga ria às gargalhadas. Depois vi a minha ninfa das águas vir a correr e a saltar na minha direcção; quando chegou aonde eu estava sentado, parou, olhou-me fito nos olhos, como se estivesse muito surpreendida de me ver ali; por fim, voltou-se com indiferença e foi para o desembarcadouro. As coisas não ficaram por aqui; todo o dia andou à volta da cabana e nem um momento deixou de cantar e de dançar. Estranha criatura! Não tinha no rosto sinais de doença; pelo contrário, os olhos, que punha em mim com audaciosa penetração, pareciam dotados de poder magnético. De cada vez que a surpreendia a fitar-me parecia que estava à espera de que lhe fizesse qualquer pergunta, mas, sempre que eu abria os lábios para falar, ela fugia, com um sorriso arteiro.
Realmente, nunca tinha visto uma mulher como aquela. Estava longe de ser bonita, mas eu também tenho os meus preconceitos quanto a beleza. Tinha raça: e raça, nas mulheres como nos cavalos, é uma grande coisa. Esta descoberta devemo-la nós à França nova. Manifesta-se - a raça, claro, não a França -, a maior parte das vezes, na cinta, nas mãos e nos pés; em especial, o nariz é de grande importância. Na Rússia, um nariz correcto é mais raro do que um pé bem feito. Parecia que a minha cantora não teria mais de dezoito anos. A invulgar elegância do seu corpo, o jeito gracioso de inclinar a cabeça, o cabelo louro e longo, o tom dourado que levemente cobria o pescoço e os ombros queimados pelo sol, a correcção do nariz, especialmente, - tudo era encantador para mim. Apesar de perceber um certo ar selvagem e suspeitoso nos olhares que lançava de lado, apesar de haver alguma coisa de indefinido no seu sorriso, tal é a força do preconceito que a correcção do nariz me pôs doido. Imaginei que tinha descoberto a Mignon de Goethe, essa caprichosa criação da sua fantasia germânica. Havia, de facto, muita semelhança entre elas, as mesmas rápidas mudanças do mais bravio desassossego para a mais completa imobilidade, as mesmas falas enigmáticas, os mesmos pequenos movimentos e estranhas canções.
À tardinha, encontrei-a à porta e travei com ela a seguinte conversa:
- Ora diga-me, minha linda, que estava a fazer hoje no telhado?
- Estava a ver de que lado soprava o vento.
- E em que a interessava saber isso?
- É que do lado de que vem o vento vem a sorte.
- Então estava a atrair a felicidade com as suas canções?
- Onde se canta há felicidade.
- E se as canções lhe trouxerem desgraça?
- Ora, que se há-de fazer? Quando não pode ser melhor é pior. Do bem ao mal pouco vai.
- Quem lhe ensinou aquela?
- Ninguém ma ensinou. Quando penso numa canção, canto-a. Quem tem de ouvi-la há-de ouvi-la e quem não tem de ouvi-la não a percebe.
- E como se chama a cantora?
- Isso lá sabe quem a baptizou.
- E quem é que a baptizou?
- Ah! isso não sei!
- Pois bem, sua misteriosa, vou eu contar-lhe o que sei a seu respeito.
A expressão do rosto não mudou; nem moveu os lábios: ficou como se tudo lhe fosse indiferente.
- Descobri que foi à praia a noite passada.
Depois, solenemente, disse-lhe tudo o que tinha visto, julgando que a embaraçava muito. Pôs-se a rir com todo o gosto.
- Viu muito, mas sabe pouco; e o que sabe é melhor guardá-lo a sete chaves.
- E se eu resolvesse informar o comandante? - disse eu muito sério, quase feroz.
Ela deu um salto e desapareceu a cantar como a ave que foge assustada duma moita. As minhas últimas palavras tinham sido descabidas de todo; nessa altura, nem suspeitei da sua importância, mas tive depois ocasião de me arrepender.
Estava já a escurecer. Ordenei ao meu cossaco que preparasse a chaleira, como na frente, acendi uma vela e sentei-me para uma boa cachimbada. Ia a acabar o segundo copo de chá quando a porta estalou e ouvi atrás de mim um brando som de passadas e o ligeiro roçagar de um vestido. Tive um sobressalto e olhei em volta - era a minha ninfa das águas. Sentou-se em silêncio em frente de mim e em silêncio me fixou. Não sei porquê, o seu olhar pareceu-me extremamente terno; lembrou-me outro olhar que anos antes me subjugara como um tirano e me brincara com a vida. Parecia ela que estava à espera duma pergunta, mas eu permaneci calado; sentia uma perturbação indescritível. O rosto da rapariga estava muito pálido e traía a agitação que lhe ia na alma, a mão vagueava-lhe pela mesa e notei que tremia levemente; por vezes o peito arfava, outras parecia conter a respiração. Esta comédia principiava a impacientar-me e estava a ponto de quebrar o silêncio da maneira mais prosaica oferecendo-lhe um copo de chá, quando subitamente deu um salto, me lançou os braços à volta do pescoço e me deu nos lábios o mais ardente dos beijos. Faltou-me a luz, senti-me tonto e abracei-a com todo o vigor da paixão juvenil; mas, como uma cobra, deslizou dos meus braços e murmurou-me ao ouvido:
- Esta noite, quando todos estiverem a dormir, venha à praia - e saiu da casa como uma seta.
Ao passar, virou a chaleira e a vela que estavam pousadas no chão.
- Diabo de rapariga! - exclamou o cossaco que se tinha acomodado na palha e estava a acabar os restos do chá. Só nesse instante voltei a mim.
Duas horas depois, logo que tudo sossegou no porto, acordei o meu cossaco:
- Se eu disparar a pistola, corre para a praia.
Olhou-me com espanto, depois disse, mecanicamente:
- Às ordens, Excelência.
Meti a pistola ao cinto e saí. Ela estava à minha espera no cimo da descida; as roupas eram poucas e tinha sobre o ágil corpo um pequeno xale.
- Venha comigo - disse-me, pegando-me na mão.
Começámos a descer e não sei como não parti a cabeça; quando chegámos abaixo, voltámos à direita e seguimos pela vereda por onde, na noite anterior, tinha ido atrás do cego. A Lua ainda não tinha nascido e só duas estrelas, como dois faróis, brilhavam na abóbada azul-escura. As vagas largas vinham morrer regularmente uma após outra e mal moviam o bote solitário que estava preso ao paredão.
- Vamos embarcar - disse a minha companheira.
Hesitei, porque não gosto de excursões sentimentais pelo mar, mas era tarde para recuar. Ela saltou para o barco, eu segui-a e, antes de eu saber onde estávamos, já tínhamos largado.
- Que quer dizer isto? - perguntei zangado.
- Quer dizer - e, fazendo-me sentar junto dela, enlaçou-me com os braços - quer dizer que te amo. Apertou a face contra a minha e senti-lhe o hálito ardente. De repente ouvi cair qualquer coisa na água; apalpei o cinto - tinha-se ido a pistola. Então penetrou-me no espírito uma horrível suspeita e o sangue subiu-me à cabeça. Olhei para trás: já estávamos a umas cinquenta braças da costa e não sei nadar. O barco principiou a balançar, mas dominei-me e uma luta desesperada começou entre nós. A raiva dava-me forças, mas cedo notei que era inferior em agilidade ao meu adversário.
- Que é que tu queres? - gritei eu apertando-lhe as mãos com violência; os dedos estalaram-lhe mas a sua natureza de serpente podia suportar a dor.
- Tu viste tudo - respondeu ela. - Querias denunciar-nos! - e com esforço sobre-humano conseguiu derrubar-me. Estávamos os dois debruçados da borda e o cabelo dela tocava na água. O momento era decisivo; firmei o joelho no fundo do barco, segurei-lhe o cabelo com uma das mãos e com a outra apertei-lhe a garganta; largou-me logo as roupas: aproveitei a ocasião e atirei-a para a água.
Já estava bastante escuro; vi a cabeça aparecer-lhe umas duas vezes no meio da espuma do mar e depois não enxerguei mais nada.
No fundo do barco encontrei metade de um remo e após longos esforços consegui chegar ao desembarcadouro. Quando ia, ao longo da praia, para a cabana, olhei involuntariamente para o lugar em que, na noite anterior, tinha visto o cego esperar o remador nocturno. A Lua já despontara no céu e pareceu-me que alguma coisa branca estava sentada na praia; espicaçado pela curiosidade, arrastei-me para a frente e deitei-me na erva, na sombra que faziam os rochedos. Levantando a cabeça acima das pedras, podia ver nitidamente do meu esconderijo o que se passava em baixo e não fiquei muito surpreendido, fiquei mesmo contente, ao reconhecer a minha ninfa das águas; estava tirando do cabelo a espuma do mar; o vestido molhado modelava-lhe o corpo elegante e o peito redondo. Depressa um barco apareceu ao longe e veio na sua direcção. Como na noite anterior, desembarcou um homem de boné tártaro, mas agora tinha o cabelo cortado à moda dos cossacos e trazia um grande punhal no cinto de couro.
- Janko! - disse ela - está tudo perdido!
Depois continuaram a conversação em voz tão baixa que não pude ouvir nada.
- Onde está o moço? - perguntou Janko, por fim, em voz mais alta.
- Já o mandei... - respondeu ela e poucos minutos depois chegava o cego; trazia às costas um saco que puseram no barco.
- Escuta! - disse Janko. - Ficas de guarda, percebes? Há por lá coisa rica. E dizes ao (não consegui perceber o nome) que não fico ao seu serviço; isto vai mal; não me torna a ver; as coisas vão-se tornando perigosas. Vou ver se encontro trabalho noutro sítio; e nunca mais encontra aventureiro como eu... E dizes-lhe que se me tivesse pago melhor nunca Janko o teria deixado. Todos os caminhos me estão abertos, todos os caminhos por onde o vento soprar e o mar rugir. - Depois de um pequeno silêncio, continuou: - Ela vai comigo; não pode ficar aqui; e diz à velha que já é tempo de morrer; já viveu bastante - devia ser mais razoável. Não tornará a ver-nos.
- E eu? - disse o cego com voz triste.
- Que préstimo tens tu para mim? - foi a resposta.
Entretanto, a ninfa das águas tinha saltado para o barco e feito um sinal ao companheiro. Ele pôs qualquer coisa na mão do cego e disse:
- Aqui tens para broas.
- Só isto? - perguntou o cego.
- Que esperavas tu mais? - e ouviu-se o tinir da moeda nas pedras.
O rapaz não a apanhou. Janko entrou no barco. O vento soprava da costa; içaram uma pequena vela e depressa se fizeram ao largo. Durante muito tempo, viu-se a vela branca passar iluminada pelo luar sobre as ondas escuras. O cego ficara sentado na praia e ouvi uma espécie de soluços; parecia que o rapaz chorava e que chorava longamente. Fiquei triste. Porque me tinha o destino atirado para este grupo de honestos contrabandistas? Como a pedra lançada ao poço tranquilo, tinha-lhes eu perturbado a calma; e como a pedra também, tinha estado quase a ir ao fundo.
Voltei ao meu alojamento. No corredor a vela pingava sobre um bocado de madeira e o meu cossaco, contrariamente às ordens que lhe tinha dado, estava em sono profundo, segurando com força a espingarda que tinha na mão. Deixei-o em paz, peguei na vela e fui para a cabana. Ai! a caixa do dinheiro, a espada com guarnições de prata, a adaga de Reggistan, presente de um amigo, tudo tinha desaparecido. Só então caí na conta de que coisas levava o maldito cego no seu saco. Acordei o cossaco com uma pancada não muito branda e berrei com ele, furioso; mas nada havia a fazer. Teria sido ridículo queixar-me às autoridades de ter sido roubado por um cego e quase afogado por uma rapariga de dezoito anos. Graças a Deus, apareceu na manhã seguinte oportunidade de me ir embora e saí de Taman. Não sei que sucedeu à velha e ao rapaz. E, na realidade, que tenho que ver eu, oficial em viagem de serviço, com as alegrias e as tristezas da humanidade?
Mikhail Lermontov
Bobok
Desta vez vou folhear o "carnet" de outra pessoa. Já não se trata de mim, em absoluto; trata-se de alguém de quem não sou de modo algum solidário, parecendo-me inútil prefácio mais longo.
"Carnet" da pessoa
Disse-me anteontem Semion Ardalionovitch:
- Ivan Ivanitch, nunca te embriagas?
Pergunta singular que, apesar de tudo, não me ofendeu. Sou homem calmo, que certas pessoas querem fazer passar por louco. Há pouco um pintor quis fazer-me o retrato. Consenti em posar e admitiram a tela na Exposição. Alguns dias depois li em um jornal que se referia a este retrato: "Vão ver o rosto doentio e convulso que parece de candidato à loucura..." Não me zanguei. Não valho bastante como literato para ficar louco por excesso de talento. Escrevi uma novela curta que não quiseram publicar. Escrevi um folhetim e repeliram-me. Levei-o a muitos diretores de jornais e em parte alguma quiseram aceitá-lo.
- Falta sal no que escreve, disseram-me.
- Que espécie de sal? perguntei um tanto ironicamente. - Sal ático?
Não me compreenderam. Então, frequentemente, traduzo livros francêses para nossos editores, redigindo também anúncios para negociantes. Atenção, compradores! Procurem este artigo raro: o chá vermelho das plantações de...
Recebi quantia importante pelo panegírico do falecido Piotr Matveievitch. Redigi A Arte de Agradar as Damas, de que me encarregou um editor. Fabriquei durante a vida cerca de 80 livros desse gênero. Tenho a intenção de organizar uma coleção das frases sutis de Voltaire, mas estou com receio que pareçam um tanto insípidas em nosso meio. Aí está toda a minha vida de escritor. Ah! Esqueci-me de dizer que enviei mais de quarenta cartas a diversos jornais e revistas, com a intenção de reformar o gosto literário do país, gastando desse modo não sei quantos rublos em selos do correio.
Creio que o pintor fez o meu retrato não tanto devido à minha reputação literária, mas para pintar algo bastante raro: tenho duas manchas dispostas simetricamente sobre a testa. Desse ponto de vista sou um fenômeno e como os nossos pintores atuais não têm idéias, procuram as singularidades. E como triunfam as minhas manchas no retrato! Vivem: dir-se-iam que estão falando. É a isso que atualmente chamam de realismo! Quanto ao que diz respeito à loucura, creio que obedeceram a moda do ano passado. Na ocasião era de bom gosto que todos os escritores parecessem loucos. Só se viam nos jamais frases como estas: "Fulano tem muito talento; infelizmente, essa espécie de talento conduzi-lo-á, que dizemos, conduziu-o à loucura." Seja como for, ontem veio visitar-me um amigo e assim me falou: "Sabes que teu estilo está mudando? Estás obscuro, complicado!" O amigo tem razão. E não vejo mudar somente o estilo, mas o meu talento também se modifica. Dói-me a cabeça e começo a ver formas estranhas, a ouvir sons esquisitos. Não são palavras o que falam. Pronunciam tão-só uma inflexão de voz; é como se alguém, colocado por trás de mim, repetisse frequentemente: "Bobok! bobok! bobok!" Que diabo poderá ser bobok?
Para distrair-me fui a um enterro. Um parente longínquo, conselheiro privado... Vi a viúva e as cinco filhas, todas solteironas; cinco moças... Deve ficar caro, principalmente em sapatos! O defunto tinha um bom ordenado mas a viúva terá de contentar-se com uma pensão. Não me recebiam lá muito bem nessa família. Não importa! Acompanhei o cortejo até o cemitério. Afastavam-se de mim; sem dúvida alguma, meus trajes lhes pareciam pouco elegantes. Na verdade, faziam pelo menos vinte e cinco anos que não punha os pés em um cemitério: são lugares desagradáveis. A princípio, nota-se um cheiro!... Naquele dia tinham levado ao cemitério uns quinze mortos. Houve enterros de todas as classes; tive mesmo de admirar dois formosos carros: um conduzia um general, o outro uma senhora qualquer. Vi muitos rostos tristes, outros que fingiam tristeza e, principalmente, grande quantidade de caras francamente alegres. O dia devia ter sido bom para o clero. Mas o cheiro... Oh, o cheiro!... Não gostaria de ser sacerdote com exercício naquele cemitério. Contemplei o rosto dos mortos sem me aproximar demasiadamente.
Desconfiava da minha impressionabilidade. Havia caras bonachonas, outras muito desagradáveis. Frequentemente os defuntos têm sorriso nada bom; não me agrada contemplar esses gestos. Volta-se a vê-los em sonhos.
Durante a cerimónia fúnebre, saí por alguns instantes; o dia estava cinzento; fazia frio, pois estávamos já em outubro; andei ao acaso entre os túmulos. Existem de diversos estilos, de categorias distintas; a terceira custa trinta rublos. É decente e nada caro. Os das duas primeiras classes se acham ou na igreja, ou no átrio. Mas custam uma loucura.
Nos de terceira categoria enterraram naquele dia seis pessoas, entre elas o general e a dama. Fui ver as sepulturas: era horrível. Dentro havia água esverdeada.
Depois ainda saí mais uma vez durante a cerimónia. Estive fora do cemitério; muito perto havia um hospício e quase ao lado um restaurante. Este não era mau; pode-se comer sem ser envenenado. Encontrei na sala muitas pessoas que tinham acompanhado os enterros; reinava aí dentro alegria formosa, animação divertida. Sentei-me, comi e bebi.
Voltei depois a ocupar o meu lugar na igreja e, mais tarde, ajudei a levar o caixão até a sepultura. Por que os mortos ficam tão pesados dentro do caixão? Dizem que é devido à inércia dos cadáveres; ainda se conta uma porção de bobagens com relação a esta força.
Não assisti ao banquete fúnebre: sou orgulhoso. Se não me recebem senão quando não podem deixar de fazê-lo, não experimentei necessidade alguma em sentar-me à mesa.
Mas perguntei a mim mesmo por que me deixei ficar no cemitério. Sentei-me sobre uma lápide e pus-me a sonhar, - como se costuma fazer nesses lugares. Apesar de tudo, logo o meu pensamento se desviou. Fiz algumas reflexões sobre a Exposição de Moscou e depois dissertei (comigo mesmo) sobre o Assombro. E aqui está a minha conclusão: assustar-se de tudo é, certamente, grande tolice. Mas é mais idiota ainda não se assustar com coisa alguma. É quase não fazer caso de nada, e o que caracteriza a imbecilidade é exatamente isso.
- Tenho a mania de interessar-me por tudo - disse-me um dia um dos meus amigos.
Meu Deus! Tem a mania de interessar-se por tudo. Que diriam de mim, se escrevesse isso em um dos meus artigos?
Esqueci-me um pouco ali, no cemitério; não que tenha gosto em ler as inscrições nas lápides; é sempre o mesmo... Sobre uma pedra funerária encontrei um lencinho, em que tinham mordido. Puxei-o.
Oh, não era pão, era um lencinho... Além disso, tirar o pão será pecado mortal ou venial? Terei que consultar o Anuário de Souverine.
Creio que estive sentado durante muito tempo; tanto tempo que acho que acabei deitando-me sobre a grande lápide de um sepulcro... Então, não sei como começou, mas com toda certeza ouvi ruídos. A princípio não liguei importância; mas dentro em pouco os ruídos transformaram-se em conversa, conversa sustentada por vozes surdas, como se cada um dos interlocutores tivesse tapado a boca com um travesseiro. Levantei-me e pus-me a escutar atentamente.
- Excelência, dizia uma das vozes, é absolutamente impossível. O senhor tirou o dez do trunfo, eu tenho o rei e agora o senhor anuncia os quarenta. É uma bandalheira.
- Mas se não houver bandalheira, onde estará o interesse do jogo?
- Não se pode jogar sem garantias, Excelência. Isso é de levantar um morto.
- Ah! um morto! Aqui não há nada disso.
Palavras singulares, verdadeiramente estranhas e inesperadas! Mas não há a menor dúvida: as vozes saíam das sepulturas. Inclinei-me e li sobre a lápide de uma das sepulturas esta inscrição:
"Aqui jaz o corpo do general Pervoledov, cavaleiro de tais e tais ordens. Morreu em agosto... 57. Descansai, cinzas queridas, até o glorioso dia..."
Sobre a outra não havia inscrição alguma. Com certeza era sepultura de morador recente do cemitério. Provavelmente ainda não tinham redigido a inscrição ao gosto da família. Apesar disso, por mais indistinta que fosse a voz do morto, pensava, pois sou perspicaz, devia ser um conselheiro da Corte.
- Oh! ah! ah! - ouvi ainda.
Dessa vez tinha certeza que a voz saía a menos de cinco metros de distância da sepultura do general. Olhei em direção ao ponto donde saía. Percebia-se que o enterramento tinha sido recente. A julgar pela rudeza devia ser de pessoa do povo.
- Oh! oh! oh!
E assim se repetiu várias vezes. De repente rebentou a voz clara, altiva e desprezadora de uma mulher, evidentemente de alta classe:
- Como é irritante ter de ficar aninhada ao lado desse mascate!
- Então por que cargas d'água veio meter-se aqui? replicou o outro.
- Foi contra a vontade que me meteram aqui... Foi meu marido... Oh! horríveis surpresas da morte! Eu que não seria capaz de ter-me aproximado de você por todo o ouro do mundo, ver-me aqui ao seu lado porque não puderam pagar mais do que o preço da "terceira categoria"!
- Ah! Agora lhe reconheço a voz. Na caixinha que tinha em cima da mesa estava uma boa conta que não me pagou.
- É um pouco exagerado e bastante idiota vir reclamar aqui o pagamento de uma conta. Volte lá para cima e queixe-se à minha sobrinha: é minha herdeira.
- Mas agora, por onde sair? Estamos os dois agora bem acabados, mortos ambos no pecado, iguais até o juízo final.
- Iguais do ponto de vista dos pecados; mas não de outra maneira qualquer - respondeu desdenhosamente a mulher. - E não procure conversar comigo, porque não o admitirei.
- Oh! ah! oh! gritou novamente a voz rude.
De qualquer maneira, o mascate obedeceu à mulher.
- Ah! disse o "conselheiro". - E obedece assim?
- E por que - disse o general - não haveria de obedecer?
- Mas ignora talvez Vossa Excelência que aqui não é como no mundo que deixamos?
- Como é então?
- Agora não existem entre nós posições nem considerações, visto assegurarem que estamos mortos.
- Embora estivéssemos mil vezes mais mortos, não seriam, contudo, menos necessárias as preferências, uma ordem social...
Aquelas pessoas consolaram-me. Se não são amigos nesse fúnebre subsolo, o que seria possível pedir-lhes no andar superior? E continuei a escutar.
- Não, eu viverei! Não! Digo-lhe que viverei! exclamou outra voz também inesperada, que saía do espaço entre o túmulo do general e a mulher suscetível.
- Ouviu, Excelência? - era a voz do conselheiro. Aí está o nosso homem a começar de novo! Tanto passa os dias sem dizer palavra como nos aborrece constantemente com a frase estúpida: "Não, eu viverei!"
- Viver aqui! Neste lugar sinistro!
- Na verdade não se vê alegria neste lugar. Excelência, se quiser, vamos também para nos distrair implicar um pouco com a vizinha, Avdotia Ignatievna, que se mostra tão susceptível.
- Eu não! Não suporto essa mulher altiva, faladora.
- Eu que não os suporto, nem a um nem a outro! - gritou a faladora. - Todos dois são insuportáveis. Só sabem resmungar tolices. Quer que lhe conte, general, algo de interessante? Pois lhe direi de que maneira um dos seus criados o meteu debaixo de certa cama, com uma vassoura...
- Oh! você é uma criatura insuportável! - resmungou o general.
- Oh! mãezinha Avdotia Ignafievna! tira-me de uma dúvida, peço-lhe, - exclamou o mascate. - Estou sendo vítima de horrível ilusão ou é real o cheiro insuportável que me envenena?
- Você ainda insiste! Mas se é quem desprende fedor horrível ao mexer-se...
- Não me mexo, querida senhora, não posso exalar mau cheiro algum. A minha carne está intacta: encontro-me em perfeito estado de conservação. Mas a realidade, mãezinha, é que você já está um pouco... podre. Espalha um fedor insuportável para o lado de cá. Se me calei até agora foi por delicadeza...
- Ah! sujeito repugnante! É ele quem envenena o ar, e diz que sou eu!
- Oh! ah! ah! Tomara que chegue já o dia em que celebrarão os meus funerais, quarenta dias depois da minha morte! Pelo menos, hei de ouvir as lágrimas da minha esposa e dos meus filhos cair sobre o túmulo!
- Ora essa! Tem certeza que vão chorar? Apertarão o nariz e se afastarão bem depressa...
- Avdotia Ignatievna - disse o funcionário em tom obsequioso - daqui a pouco os que chegaram hoje começarão a falar.
- Haverá jovens entre eles?
- Há sim, Avdotia Ignatievna. Há até mesmo mocinhos.
- Como assim, ainda não saíram da letargia? - perguntou o general.
- Bem sabe Vossa Excelência que os de anteontem até agora não despertaram. Há quem permaneça inerte durante semanas inteiras. Nos três últimos dias trouxeram certo número. Se assim não fosse, todos os mortos num raio de dez metros em roda, seriam do ano passado.
Hoje, Excelência, enterraram o conselheiro privado Tarassevitch. Ouvi citar-lhe o nome aos concorrentes. Conheço o sobrinho dele: o que presidia ao duelo pronunciou algumas palavras junto ao túmulo.
- Mas onde é que está?
- Muito perto: a cinco passos, à sua direita. Se fizesse conhecimento com ele, Excelência!
- Oh! Terei de dar o primeiro passo?
- Ele o dará. E até sentirá grande satisfação; confie em mim e eu...
- Oh! e isso agora! interrompeu o general. Que é que estou escutando?
- É a voz de um recém-chegado, Excelência. Não perca tempo; os mortos demoram muito, ordinariamente, a mover-se.
- Dir-se-ia que é voz de um jovem - suspirou Avdotia Ignatievna.
- Se aqui me encontro é devido a essa complicação dos diabos, que em tudo me transtornou. Aqui estou morto e tão repentinamente! - gemeu o morto - Entretanto, ain- dana véspera, de noitinha, dizia-me Schultz: "Não há mais nenhuma complicação a temer." E, zás, de manhã estava morto.
- Pois bem, jovem, já não há nada mais a fazer - observou o general bastante cordialmente. Parecia encantado com a presença de um "novo".
- Você terá de tomar uma resolução e acostumar-se ao nosso vale de Josafá. Somos todos honrados... estando em contato conosco, poderá verificar. Sou o general Vassili Vassilievitch Tervoiedov, para servi-lo...
- Eu estava em casa de Schultz... Esta complicação dos diabos da gripe, quando o peito me estava a doer... Foi tudo tão repentino!
- Você disse o peito? - disse suavemente o funcionário, como se quisesse animar o "novo".
- Sim, o peito, escarrava muito. Depois, de repente, deixei de escarrar, fiquei sufocado e...
- Bem sei, bem sei... Mas se estava doente do peito devia ter procurado Ecke e não Schultz...
- Eu fazia questão que me levassem à casa de Botkine e foi aí que...
- Hum... Botkine, mau negócio - interrompeu o general.
- Nada disso; ouvi dizer que se preocupa muito com os doentes...
- O general falava assim porque queria referir-se aos honorários de Botkine - observou o funcionário.
- Você está enganado. Não é nada careiro e é muito escrupuloso quando ausculta e muito minucioso ao redigir as receitas. Vamos ver, senhores, aconselham-me a procurar Ecke ou Botkine?
- Quem?... Você? Onde?
O general e o funcionário puseram-se a rir.
- Jovem encantador e delicioso, como o amo! - exclamou entusiasmada, Avdotia Ignatievna. - Por que não o colocaram ao meu lado?
Não me foi possível compreender bem aquele entusiasmo. Tinha presenciado o enterro do "novo". Tinha-o visto no caixão aberto. Era o rosto mais repugnante que se pudesse imaginar. Parecia um pinto rebentado de medo. Enojado, passei a escutar o que se dizia do outro lado.
A princípio era tal a confusão, que não me foi possível ouvir tudo quanto se dizia. De uma só vez tinham acabado de despertar diversos mortos. Entre eles um conselheiro da corte, que logo se pôs a falar com o general, para comunicar as suas impressões com relação a uma nova subcomissão nomeada no ministério e de uma troca de funcionários. Parecia que a conversa interessava extremamente ao general; confesso que fiquei sabendo, por esse modo, de muitas coisas que ignorava, ficando admirado de vir a conhecê-las por maneira tal. No mesmo instante tinham acordado um engenheiro, que por algum tempo, nada mais fez senão gaguejar tolices e a nobre dama que haviam enterrado naquele dia mesmo.
Lebeziatnikov - era o funcionário que estava perto do general - ficou surpreendido com a rapidez com que esses mortos recuperavam a palavra. Pouco tempo depois começaram outros mortos a falar. Eram os de anteontem. Notei uma senhorita muito jovem, que não parava de rir estupidamente.
- O senhor conselheiro privado Tarassevitch dignou-se despertar - anunciou prontamente o general ao funcionário Lebeziatnikov.
- Como? Que é que há? - balbuciou fracamente o conselheiro privado.
- Sou eu; somente eu, Excelência - respondeu Libeziatnikov.
- Que é que quer? Que é que pede?
- Desejo saber somente notícias de Vossa Excelência. Em geral, a falta de costume faz com que a pessoa se sinta estranha aqui... O general Pervoiedov sentir-se-ia muito honrado em conhecê-la e espera...
- Pervoiedov!... Nunca ouvi pronunciar tal nome...
- Perdoe-me Vossa Excelência: o general Vassili Vassilievitch Pervoiedov.
- É o senhor o general Pervoiedov?
- ... Eu não, Excelência. Sou o conselheiro Lebeziatnikov, para servi-lo e o general...
- Está me aborrecendo! Deixe-me sossegado! Aquela amabilidade acalmou o zelo de Lebeziatnikov, ao qual o general murmurou:
- Deixe-o!
- Sim, general, já o deixo - respondeu o funcionário. Entretanto, ainda não despertou bem... Levemo-lo em conta. Quando estiver com as idéias mais claras, estou certo que a sua amabilidade natural...
- Deixe-o! repetiu o general.
- Vassili Vassilievitch! O senhor, Excelência! - gritou do lado de Avdotia Ignatievna uma voz desconhecida, voz afetada de homem da alta roda. - Já faz tempo que a estou ouvindo. Já estou aqui há três dias. Lembra-se de mim, Vassili Vassilievitch? Chamo-me Klinevitch. Encontramo-nos em casa de Volokonsky, onde, não sei bem por que, nos deixavam entrar.
- Como! O Conde Piotr Petrovitch? É o senhor mesmo? Tão jovem! Como sinto...
- Também eu sinto! Ora essa! Afinal de contas, é o mesmo para mim. Já deve saber que não sou conde: sou somente barão. E somos família de tristes barões, de origem modesta e pouco recomendável; mas pouco me importo: perdão, estou enganado. Valia um pouco menos que nada: era um polichinelo de titulado da alta classe, na qual me haviam dado reputação de palhaço encantador. Meu pai foi um desgraçado general qualquer, e minha mãe foi outrora recebida em altos lugares. Ajudado pelo judeu Zifel fabriquei no ano passado uns cinquenta mil rublos em notas do Banco. Denunciei o meu cúmplice e Julia Charpentier de Lusignan carregou com todo o dinheiro para Bordéus.
Imagine que na ocasião estava noivo da senhorita Stchvalevszkaia, que tinha dezesseis anos menos três meses, tendo saído há pouco do colégio interno. Tinha um dote de noventa mil rublos. Lembra-se, Avdotia Ignatievna, quando eu era um pajem de quatorze anos, como me perverteu?
- Ah! era você, canalha! Tanto melhor que Deus o tenha mandado para cá! Sem você isto aqui estava-se tornando intolerável.
- A propósito, Avdotia Ignatievna, está errado que acuse o vizinho mascate de empestar os arredores. Sou eu o responsável, e fico desvanecido com isso! Meteram-me no caixão quando já estava muito estragado.
- Ah! malvado! Mas dá no mesmo; estou contente em tê-la perto de mim. Se você soubesse como é triste e desenxabido este recanto!
- Não duvido, e vou introduzir um pouco de fantasia na reunião. Diga-me, Excelência: não é ao senhor, Pervoiedov, a quem estou falando; é ao outro, o que se chama Tarassevitch, conselheiro privado. Aposto que esqueceu que fui eu, Klinevitch, quem o levou durante uma quaresma à casa da senhorita Furie.
- Estou ouvindo, Klinevitch e... creia que...
- Não creio nada, absolutamente, e pouco se me dá. Queria simplesmente, velho amigo, abraçá-la; mas, graças a Deus não o posso fazer. Mas vocês sabem o que fez este avô? Ao morrer, deixou um desfalque de quatrocentos mil rublos no Tesouro. Esta soma estava destinada a viúvas e órfãos; mas quem a embolsou foi o gato; de sorte que durante oito anos nada se distribuiu. É verdade que durante todo esse tempo não se fez qualquer verificação. Imagino as caretas que as viúvas farão, e daqui mesmo estou ouvindo os nomes das aves com que nosso Tarassevitch se deliciava. Passei todo o último ano de vida divertindo-me com as forças que ainda conservava esse velho ridículo, quando se fazia algum passeio fora da cidade, apesar de sofrer de gota. Há muito que eu sabia do golpe das viúvas e órfãos. Quem me vendeu o segredo foi a senhorita Charpentier. Pois um belo dia, um pouco a contragosto, fui... arrancar-lhe vinte e cinco mil rublos, ameaçando-o... amistosamente, com o que ela me dissera, se ele não me fechasse a boca. Sabem o que ainda tinha em caixa? Treze mil rublos, nem mais um copeque! Ah! morreu a tempo o velho. Oh! que avô maldito. Está me ouvindo, Tarassevitch?
- Meu querido Klinevitch, não quero contrariá-lo; mas você entra em tais detalhes... E se soubesse as desgraças a que tive de remediar; e aí está a compensação que tive. Enfim, aqui vou encontrar repouso, talvez felicidade...
- Aposto que sentiu aqui por perto o cheiro de Katiche Berestova!
- Katiche? De quem está falando? - resmungou febril e bestialmente o velho.
- Ah! Ah! Que Katiche? Uma jovem que encontrou o túmulo a dez passos de você, à esquerda. E se soubesse, avô, que coisa à-toa era! Pertencia a uma boa família, recebera educação e instrução, tinha quinze anos de idade, mas que pequena louca, que monstro! Olá Katiche, responde!
- Hé! Hé! Hé! - rosnou uma voz rouquenha de moça.
- Você... é... ladra? balbuciou o velho.
- Creio que sim.
- Hé! Hé! Hé! rosnou mais uma vez a moça.
- Ora vejam só - disse o velhote - eu que sempre imaginei dizer duas palavras a uma lourinha de quinze anos, exatamente de quinze anos, em cenário como este.
- Velho miserável! - exclamou Avdotia Ignatievna.
- Não nos indignemos - atalhou secamente Klinevitch.- O que importa é saber que temos alegria no palco. Ninguém vai aborrecer-se aqui! Duas palavras, Lebeziatnikov... você, ó funcionário!
- Sim, senhor... Lebeziatnikov... conselheiro... para servi-lo... Muito feliz serei se...
- Duvido um pouco que se sinta feliz com isto ou aquilo. Mas parece que o conheço. E além disso, dê-me uma explicação, seu malicioso. Estamos mortos e, não obstante, falamos, movemo-nos, ou melhor, parece que falamos e nos movemos; pois é bem evidente que não fazemos nem um nem outro...
- Oh! pergunte a Platão Nicolatevitch; poderá explicar-lhe melhor que eu.
- Quem é esse tal Platão?
- Platão Nicolaievitch é o nosso filósofo, ex-diplomado em ciências e antigo pedante. Publicou em outros tempos alguns folhetos filosóficos; mas o pobre-diabo está aqui há uns três meses, e quase não fala. Chega mesmo a dormir quando discute, compreende? Acontece, vez por outra, que fale algo de incompreensível... e nada mais... Apesar de tudo, parece-me tê-lo ouvido ocupar-se de explicar a nossa situação. Se não me engano, creio que a morte que sofremos não é, pelo menos imediatamente, mais do que a morte do corpo e incompleta; subsiste um resto de vida em nossa consciência espiritual e se posso atrever-me a exprimir-me dessa maneira; que, para o conjunto, conserva-se certa espécie de vida... por força do costume - por inércia, diria eu, sem que parecesse existir uma espécie de contradição.
Segundo diz, esse estado pode durar três, quatro, seis meses ou mesmo mais... Temos aqui, por exemplo, um honrado morto que atingiu quase o estado de inteira decomposição; pois bem, esse sujeito acorda pelo menos cada seis semanas para murmurar uma palavra de sentido ignorado, bobok, bobok, bobok. O que prova permanecer nele uma centelha bruxuleante de vida.
- Bem idiota, com efeito... Mas como é possível que dispondo de consciência corpórea tão enfraquecida, eu me sinta tão profundamente afetado pelo fedor da putrefação?
Ah! quando chega a este ponto, o nosso filósofo fica confuso, torna-se terrivelmente obscuro... Fala de podridão moral; podridão da alma, veja só. Mas creio que então se sente atacado de uma espécie de delírio, chamemo-lo místico. Na situação em que se acha, é perdoável. Enfim, você comprovará que como em nossa vida recente, tão remota e tão próxima, passamos o tempo dizendo asneiras. De qualquer maneira, temos diante de nós um período curto ou longo de consciência ou semiconsciência. O melhor é empregá-lo da maneira mais agradável possível, e para realizá-la, é preciso que cada um concorra de certo modo. Proponho que todos falem francamente, abolindo vãos pudores.
- Aí está uma idéia! Vamos a ela diretamente! Deixemos aos vivos a comédia da vergonha!
Muitas vozes fizeram coro, algumas que nunca se haviam ouvido. E foi com açodamento particular que o engenheiro, então completamente lúcido, deu o consentimento, grunhindo. Katiche pôs-se a rir.
- Ah! Como será agradável nada ter que ocultar! exclamou Avdotia Ignatievna.
- Estão ouvindo? Como será belo se Avdotia Ignatievna romper todos os pactos com a hipocrisia!
- Na outra vida, Klinevitch, eu não era tão hipócrita como quer dizer; realmente, tinha vergonha de alguns dos meus atos, e sinto-me feliz ao repudiar esse sentimento embaraçoso.
- Compreendo, Klinevitch quer organizar o que nos serve de vida de maneira mais simples, mais natural.
- Nada disso! Quero divertir-me, é tudo. E para isso, aguardo duas palavras de Koudeiarov, que trouxeram ontem para aqui. Esse sim, é um personagem! Está também aqui por perto um diplomado em ciências, oficial e, se não me engano, folhetinista, vindo, o que é comovedor, ao mesmo que o diretor do jornal.
Por outro lado, mesmo somente com o nosso pequeno grupo, já é divertido. Vamos nos regular como irmãos. Eu, por meu lado, em nada quero mentir. Tal será minha principal preocupação. Sobre a terra é impossível organizar-se sem mentir: vida e mentira são sinónimos. Mas aqui contaremos tudo. Vou começar a minha história; se for possível dizê-lo assim, vou ficar inteiramente nu...
- Todos completamente nus! Todos completamente nus! exclamaram de todos os lados.
- Nada mais peço senão ficar inteiramente nua! exclamou Avdotia Ignatievna.
- Ah! Ah! Estou vendo que isto será muito mais divertido do que em casa de Ecke.
- Viverei ainda, viverei!
- Hé! hé! hé! riu zombeteiramente Katiche.
- Vem também, avô?
- Só desejo isso mesmo, andar. Mas desejava que Katiche começasse fazendo a própria biografia.
- Protesto! protesto com todas as minhas forças! - gritou violentamente Pervoiedov.
- Excelência, é melhor deixar fazer - murmurou o conciliador Lebeziatnikov.
- Será infecto!... essas vagabundas!
- É preferível deixar que falem, garanto-lhe.
- Nem no sepulcro estaremos tranquilos.
- Em primeiro lugar, nas sepulturas não se dão ordens, e, além disso, zombamos de você - disse, exaltado, Klinevitch.
- Cavalheiro, não se exceda!
- Oh! você não me tocará! Tenho toda a liberdade de aborrecê-lo como se fosse o cachorrinho de Julia. Lá em cima era general, mas aqui você é...
- Sou o quê? - Aqui você está a caminho de apodrecer. Que é que poderá restar de você? Seis botões de cobre!
- Bravo, Klinevitch! - ladraram as vozes.
- Servi ao meu imperador... Tenho uma espada...
- Com a espada poderá abrir ao meio os ratos do cemitério. E além disso, nunca desembainhou a tal espada!
- Bravo, Klinevitch!
- Não compreendo para que serve uma espada - grunhiu o engenheiro.
- A espada, senhor, é a honra... Mas não ouvi bem o que se seguiu.
Ouviu-se terrível latido. Era Avdotia Ignatievna, a histérica, que estava ficando impaciente. Quando se acalmou um pouco, disse:
- Vamos ver, essa discussão não acaba? Quando é que vamos afinal contar tudo sem pudor?
Naquele momento espirrei; fiz todos os esforços possíveis para evitá-lo, mas tive de espirrar. Ficou tudo silencioso como nos cemitérios povoados de hóspedes menos palradores.
Esperei cinco minutos... mas nem uma palavra, nem um som!
Pensei que, embora dissessem o que quisessem, tinham entre si alguns segredos que não queriam revelar, pelo menos aos vivos.
Retirei-me, mas não sem dizer a mim mesmo:
"Voltarei a visitá-los quando estiverem desprevenidos."
Com certeza me perseguem as palavras de todos esses mortos; mas por que me vejo principalmente açulado por essa palavra: bobok! Não sei por que existe para mim algo de profundamente obsceno, cínico e espantoso, principalmente nessas duas sílabas, pronunciadas por um cadáver em plena decomposição. Cadáver depravado! É horrível!
Bobok!
De qualquer maneira, voltarei a ver e ouvir mais uma vez estes mortos. Prometeram as biografias, e devo recolhêlas. Para mim é caso de consciência. Levá-las-ei ao Grajdanine! Talvez essa revista as publique!
Fiodor Dostoiévski
A árvore de natal na Casa de Cristo
Havia num porão uma criança, um garotinho de seis anos de idade, ou menos ainda. Esse garotinho despertou certa manhã no porão úmido e frio. Tiritava, envolto em seus pobres andrajos. Seu hálito formava, ao se exalar, uma espécie de vapor branco, e ele, sentado num canto em cima de um baú, por desfastio, ocupava-se em soprar esse vapor da boca, pelo prazer de vê-lo se evolar-se. Mas gostaria bem de comer alguma coisa. Diversas vezes, durante a manhã, tinha se aproximado do catre onde, num colchão de palha, já muito velho, com um saco sob a cabeça à guisa de almofada, jazia a mãe enferma . Como se encontrava ela nesse lugar? Provavelmente tinha vindo de outra cidade e subitamente caíra doente. A patroa que alugava o porão tinha sido presa na antevéspera pela polícia; os locatários tinham se dispersado para se aproveitarem também da festa, e o único tapeceiro que tinha ficado, cozinhava a bebedeira há dois dias; esse nem mesmo tinha esperado pela festa. No outro canto do quarto gemia uma velha octogenária, reumática, que tinha sido outrora babá, e que morria agora sozinha, soltando suspiros, queixas e imprecações contra o garoto, de maneira que ele tinha medo de se aproximar da velha. No corredor, ele tinha encontrado alguma coisa para beber , mas nem a menor migalha para comer, e mais de dez vezes já tinha ido para junto da mãe para despertá-la. Por fim, a obscuridade lhe causou uma espécie de angústia: há muito tempo tinha caído a noite e ninguém acendia o fogo. Tendo apalpado o rosto de sua mãe, admirou-se muito: ela não se mexia mais e estava tão fria como as paredes. "Faz muito frio aqui", refletia ele, com a mão pousada inconscientemente no ombro da morta; depois, ao cabo de um instante, soprou os dedos para esquentá-los, pegou o seu boné abandonado no leito e, sem fazer ruído, saiu do cômodo, tateando. Por vontade dele, teria saído mais cedo, se não tivesse tido medo de encontrar, no alto da escada, um canzarrão que latira o dia todo, na soleira das casas vizinhas. Mas o cão não se encontrava ali, e o menino já ganhava a rua.
Senhor! Que grande cidade! Nunca tinha visto nada parecido. De lá, de onde vinha, era tão negra a noite! Uma única lanterna para iluminar toda a rua. As casinhas de madeira são baixas e fechadas por trás dos postigos; desde o cair da noite, não se encontra mais ninguém fora, toda a gente permanece bem enfurnada em casa, e só os cães , às centenas e aos milhares, uivam, latem durante a noite. Mas, em compensação, lá era quente; davam-lhe de comer... ao passo que ali... Meu Deus! Se ele ao menos tivesse alguma coisa para comer! E que desordem, que grande algazarra ali, que claridade, quanta gente, cavalos, carruagens... e o frio, ah! este frio! O nevoeiro gela em filamentos nas ventas dos cavalos que galopam; através da neve friável, o ferro dos cascos soa contra a calçada; toda a gente se apressa e se acotovela, e, meu Deus! Como gostaria de comer qualquer coisa, e como de repente seus dedinhos lhe doem! Um agente de polícia passa ao lado da criança e se volta, para fingir que não a vê.
Eis uma rua ainda: Como é larga! Esmagá-lo-ão ali, seguramente; como todo mundo grita, vai, vem e corre, e como está claro! Que é aquilo ali? Ah! Uma grande vidraça, e atrás dessa vidraça um quarto, com uma árvore dentro que sobe até o teto; é um pinheiro, uma árvore de Natal onde há muitas luzes, muitos objetos pequenos , frutas douradas, e em torno, bonecas e cavalinhos. No quarto, há crianças que correm; estão bem vestidas e muito limpas, riem e brincam, comem e bebem alguma coisa. Eis ali uma menina que se pôs a dançar com o rapazinho. Que bonita menina! Ouve-se música através da vidraça. A criança olha, surpresa; logo sorri, enquanto os dedos de seus pobres pezinhos doem e os das mãos se tornaram tão roxos, que não podem mais se dobrar nem ao menos se mover. De repente o menino se lembrou que seus dedos doem muito; põe-se a chorar, corre para mais longe, e eis que, através de uma vidraça, avista ainda um quarto, e neste, outra árvore, mas sobre as mesas há bolos de todas as qualidades, bolos de amêndoa, vermelhos, amarelos, e eis sentadas quatro formosas damas que distribuem bolos a todos que se apresentem. A cada instante, a porta se abre para um senhor que entra. Na ponta dos pés, o menino se aproximou, abriu a porta e bruscamente entrou. Huu! Com que gritos e gestos o repeliram! Uma senhora se aproximou logo, meteu-lhe furtivamente um tostão na mão, abrindo-lhe ela mesma a porta da rua. Como ele teve medo! Mas a moeda rolou pelos degraus com um tilintar sonoro: ele não tinha podido fechar os dedinhos para segurá-la. O menino apertou o passo para ir mais longe - nem ele mesmo sabe aonde. Tem vontade de chorar; mas desta vez tem medo e corre. Corre soprando os dedos. Uma angústia o domina, por se sentir tão só e abandonado, quando de repente: Senhor! Que poderá ser ainda? Uma multidão que se detém, que olha com curiosidade. Em uma janela, atrás da vidraça, há três grandes bonecos vestidos com roupas vermelhas e verdes e que parecem vivos! Um velho sentado parece tocar violino, dois outros estão em pé junto dele e tocam violinos menores, e todos meneiam em cadência as delicadas cabeças, olham uns para os outros, enquanto que seus lábios se mexem; falam, devem falar - de verdade - e, se não se ouve nada, é por causa da vidraça. O menino julgou, a princípio, que eram pessoas vivas, e, quando finalmente compreendeu que eram bonecos, pôs-se de súbito a rir. Nunca tinha visto bonecos assim, nem mesmo suspeitava que existissem! Certamente, desejaria chorar, mas era tão cômico, tão engraçado ver esses bonecos! De repente, pareceu-lhe que alguém o puxava por trás. Um moleque grande, malvado, que estava ao lado dele, deu-lhe de repente um tapa na cabeça, derrubou o seu boné e deu-lhe uma rasteira. O menino rolou pelo chão, algumas pessoas se puseram a gritar: aterrorizado, ele se levantou para fugir depressa e correu, sem saber para onde. Atravessou o portão de uma cocheira, penetrou num pátio e sentou-se atrás de um monte de lenha: "Aqui, pelo menos", refletiu ele, "não me acharão: está muito escuro."
Sentou-se e se encolheu, sem poder retomar o fôlego, de tanto medo, e bruscamente, pois foi muito rápido, sentiu um grande bem-estar, as mãos e pés tinham-lhe deixado de doer, e sentia calor, muito calor, como ao pé de um fogão. Subitamente se mexeu: um pouco mais e ia dormir! Como seria bom dormir nesse lugar! "Mais um instante e irei ver outra vez os bonecos", pensou o menino, que sorriu à sua lembrança: "Podia jurar que eram vivos!"... E de repente pareceu-lhe que sua mãe lhe cantava uma canção. "Mamãe, vou dormir; ah! como é bom dormir aqui !"
- Venha comigo, vamos ver a árvore de Natal, meu menino - murmurou repentinamente uma voz cheia de doçura.
Ele pensava que era a mãe, mas não, não era ela.Quem então acabava de chamá-lo? Não vê quem, mas alguém está inclinado sobre ele e o abraça no escuro; estendeu-lhe os braços e... logo... Que claridade! A maravilhosa árvore de Natal! E agora não é um pinheiro, nunca tinha visto árvores semelhantes! Onde se encontra então nesse momento? Tudo brilha, tudo resplandece, e em torno, por toda parte, bonecos - mas não, são meninos e meninas, só que muito luminosos! Todos o cercam, como nas brincadeiras de roda, abraçam-no em seu vôo, tomam-no, levam-no com eles, e ele mesmo voa e vê: distingue sua mãe e lhe sorri com ar feliz.
- Mamãe! Mamãe! Como é bom aqui, mamãe! - exclama a criança. De novo abraça seus companheirinhos, e gostaria de lhes contar bem depressa a história dos bonecos atrás da vidraça... - Quem são vocês então, meninos? E vocês, meninas, quem são? - pergunta ele sorrindo-lhes e mandando-lhes beijos.
- Isto... é a árvore de Natal do Cristo - respondem-lhe. - Todos os anos, neste dia, há na casa de Cristo, uma árvore de Natal, para os meninos que não tiveram sua árvore na terra...
E soube assim que todos esses meninos e meninas tinham sido outrora crianças como ele, mas alguns tinham morrido, gelados nos cestos, onde tinham sido abandonados nos degraus das escadas dos palácios de Petersburgo; outros, tinham morrido junto às amas em algum dispensário finlandês; uns sobre o seio exaurido de suas mães, no tempo em que grassava, cruel, a fome na Samara; outros ainda, sufocados pelo ar mefítico de um vagão de terceira classe. Mas todos estão ali neste momento, todos são agora como anjos, todos junto a Cristo, e Ele, no meio das crianças, estende as mãos para abençoá-las e às pobres mães... E as mães dessas crianças estão ali, todas, num lugar separado, e choram; cada uma reconhece seu filhinho ou filhinha que acorrem voando para elas, abraçam-nas, e com suas mãozinhas enxugam-lhes as lágrimas, recomendando-lhes que não chorem mais, que eles estão muito bem ali...
E nesse lugar, pela manhã, os porteiros descobriram o pequeno cadáver de uma criança gelada junto de um monte de lenha. Procurou-se a mãe... Estava morta um pouco adiante; os dois se encontravam no céu, junto ao bom Deus.
Fiodor Dostoiévski
Uma árvore de Natal e um casamento
Um dia destes, vi um casamento... mas não, prefiro falar-vos de uma árvore de Natal. Achei o casamento bem bonito, mas a árvore de Natal me agradou mais. Nem sei como, olhando para o casamento, me lembrei da árvore. Eis como o caso se passou.
Há cerca de cinco anos fui convidado, na véspera de Natal, para um baile infantil. A pessoa que me convidou era um conhecido homem de negócios, cheio de relações e maquinações, e, assim, não se há de estranhar que o baile infantil servisse apenas de pretexto para os pais se reunirem e, no meio da multidão, se ocuparem de seus interesses materiais com ar inocente e surpreendido.
Como houvesse chegado ali por acaso e não tivesse nenhum assunto comum com os outros, passei a noite de maneira muito independente. Havia mais um cavalheiro que, como eu, não tinha, decerto, conhecidos no grupo, e participava casualmente da felicidade familiar. Ele deu-me na vista antes de todos. Era um homem alto, magro, muito sério, vestido muito decentemente. Notava-se que a felicidade da família não lhe comunicava a menor alegria; mal se retirava a um cantinho, cessava de sorrir e franzia as sobrancelhas espessas e negras.
Afora o dono da casa, não conhecia vivalma em todo o baile. Via-se que ele se entediava horrivelmente, mas que resolvera manter até o fim o papel do homem que se diverte e é feliz. Soube depois que era um provinciano vindo à capital a algum negócio importante e complicado. Trouxera carta de recomendação para o nosso hospedeiro, que o protegia, porém, não con amore, e o convidara, por cortesia, para o baile infantil. Não jogavam cartas com o provinciano, ninguém lhe oferecia um charuto nem com ele entabulava conversação, talvez porque reconhecessem de longe o pássaro pela plumagem, e, deste modo, o meu cavalheiro via-se obrigado, para ter que fazer das mãos, a alisar a noite inteira as suas suíças. Eram, aliás, umas suíças realmente belas - porém ele as acariciava com tanto zelo que a gente, ao fitá-lo, sentia-se inclinada a pensar que primeiro vieram ao mundo as suíças e só depois o homem, para cofiá-las, inserido entre elas.
Além desse personagem, que tomava parte na felicidade do dono da casa, pai de cinco garotos bem nutridos, do modo que acabo de relatar, outro conviva caíra no meu agrado. Mas este era de aspecto completamente diverso. Era um personagem a quem os outros chamavam Julião Mastakovitch. Percebia-se à primeira vista que era ele o convidado de honra. Estava para o dono da casa como este para o cavalheiro que afagava as suíças; o dono e a dona da casa falavam-lhe com amabilidade extraordinária, cortejavam-no, enchiam-lhe o copo, amimavam-no, e lhe apresentavam, recomendando-os, vários convidados, ao passo que a ele não o apresentavam a ninguém. Notei até uma lágrima nos olhos do hospedeiro quando Julião Mastakovitch observou que raras vezes passara o tempo de maneira tão agradável como naquela noite. Comecei a sentir-me acabrunhadíssimo em presença de semelhante figura, e, depois de haver admirado as crianças, retirei-me a um pequeno salão, totalmente vazio, e fui sentar-me sob o florido caramanchão da dona da casa, o qual ocupava quase a metade de toda a peça.
Eram as crianças incrivelmente gentis, e não queriam, apesar de todas as exortações das mães e das governantas, parecer-se com as pessoas grandes. Num piscar de olho desmontaram toda a árvore de Natal, e conseguiram quebrar a metade dos brinquedos antes mesmo de saber a quem eram destinados. Achei particularmente engraçado um menino de olhos pretos e cabelos frisados que à viva força me queria matar com a sua espingarda de pau. Entretanto, mais que todos, atraía-me a atenção sua irmã, menina de onze anos, um amor de criança, meiga, cismativa, pálida, com grandes olhos sonhadores à flor do rosto. Parecia que os amiguinhos a tinham ofendido, pois veio ao salão onde eu estava sentado e, a um cantinho, pôs-se a brincar com as suas bonecas. Os convidados apontavam, com respeito, um rico negociante, pai da menina, e alguém observou, cochichando, que ela já tinha trezentos mil rublos reservados como dote. Voltei-me para ver quem se interessava por esses pormenores, e o meu olhar caiu sobre Julião Mastakovitch o qual, de mãos cruzadas atrás das costas e inclinando a cabeça para um lado, parecia acompanhar com particular atenção o mexerico de alguns senhores. Pouco depois, não pude furtar-me a admirar a sabedoria dos anfitriões na distribuição dos brindes às crianças. A menina que já tinha seus trezentos mil rublos de dote ganhou uma boneca sumptuosíssima.
Desde então os presentes foram diminuindo de valor, de acordo com a diminuição da importância dos pais daquelas crianças felizes. Afinal, a última, um menino de dez anos, magrinho, baixinho, sardento e ruivo, ganhou apenas um livrinho de contos sobre as maravilhas da natureza, as lágrimas da sensibilidade, etc., sem estampas e até sem vinhetas. Filho da governanta dos meninos da casa, uma pobre viúva, era um pequeno muitíssimo encolhido e tímido, metido num pobre fatinho de nanquim. Recebido o seu livrinho, andou muito tempo à volta dos brinquedos dos outros. Tinha uma vontade imensa de brincar com as outras crianças, mas não se atrevia; claro, já sabia e compreendia a sua situação. Gosto muito de observar crianças. São sobremodo curiosas as suas primeiras manifestações independentes na vida. Notei, pois, que o menino ruivo se deixava seduzir pelos brinquedos dos outros, sobretudo pelo teatro, em que ele se empenhava para representar um papel qualquer, a ponto de aviltar-se. Pegou a sorrir para os outros, a cortejá-los, deu a sua maçã a um pequeno gordo que já tinha o lenço cheio de presentes e até se ofereceu para carregar outro, só para que não o afastassem do teatro. No entanto, poucos minutos após um rapazinho arrogante deu-lhe uma boa surra. o ruivinho nem teve coragem de chorar. Logo apareceu sua mãe, a governanta, e ordenou-lhe não se intrometesse nos brinquedos alheios. O menino retirou-se para o salão onde estava a menina bonita. Esta o deixou aproximar-se, e as duas crianças entraram a enfeitar a sumptuosa boneca.
Fazia já meia hora que eu estava sentado no caramanchão de hera, e quase adormecera ao zunzum da conversa entre o ruivinho e a menina dos trezentos mil rublos de dote, que se entretinham a respeito da boneca, quando de repente vi entrar no salão Julião Mastakovitch. Aproveitando a distracção dos presentes com uma briga surgida entre as crianças, saíra do salão principal sem fazer barulho. Notara eu, poucos minutos antes, que ele mantinha animada palestra com o pai da futura noiva rica, a quem mal acabara de conhecer, explicando-lhe as vantagens de qualquer emprego público sobre os demais. Parou à porta, tomado de hesitação, e parecia calcular alguma coisa nas pontas dos dedos.
- Trezentos... trezentos - murmurava. - Onze... doze... treze... até dezasseis, são cinco anos... Façamos de conta que sejam quatro por cento, são doze... cinco vezes doze, sessenta; estes sessenta... bem, calculados por alto, ao cabo de cinco anos serão quatrocentos. Está certo... Mas naturalmente o malandro não os terá colocado a quatro por cento! Talvez receba oito ou até dez por cento. Suponhamos que sejam quinhentos, no mínimo, sim, quinhentos mil, na certa... o excedente gasta-se no enxoval, hum...
Acabou a meditação, assoou-se, e, indo a sair do salão, súbito avistou a menina e estacou. Como eu estivesse assentado atrás dos vasos de flores, não me pôde ver. Tive a impressão de que o homem se achava muito excitado. Seria o cálculo que operava esse efeito sobre ele, ou outro motivo qualquer? Não sei. Seja como for, o certo é que esfregava as mãos e não conseguia permanecer no mesmo lugar. Quando a sua agitação chegou ao cúmulo, parou um instante e lançou um segundo olhar, muito resoluto, à futura noiva. Quis aproximar-se dela, mas primeiro olhou em redor. Depois, como quem tem sentimentos criminosos, aproximou-se da criança nas pontas dos pés. Com um sorrisinho nos lábios, inclinou-se para ela e beijou-a na testa. A menina, não esperando a agressão, gritou assustada.
- Que é que você está fazendo aqui, bela menina? - perguntou ele em voz baixa.
E, olhando em torno de si, deu-lhe uma palmadinha no rosto.
- Estamos brincando...
- Com ele? - disse Julião Mastakovitch fitando o menino de esguelha.
E logo acrescentou:
- Escuta, meu amigo, por que não vais para o salão?
O menino fitava-o sem falar, de olhos arregalados. Julião Mastalovitch olhou de novo em redor e aproximou-se outra vez da pequena:
- Que é que você tem aí bela menina? Uma bonequinha?
- Uma bonequinha - respondeu a criança de cara fechada, cabisbaixa.
- Uma bonequinha... Mas você sabe, gentil menina, de que é feita a bonequinha?
- Não sei... - cochichou a pequena, abaixando ainda mais a cabeça.
- De trapos, minha alma... Mas tu, meu filho, deverias ir para o salão brincar com os teus camaradas, - disse Julião Mastakovitch encarando o menino com severidade.
As duas crianças franziram a testa e agarraram-se pela mão. Não queriam separar-se.
- Sabe você por que lhe deram essa bonequinha? - perguntou Julião Mastakovitch baixando cada vez mais a voz.
- Não.
- Porque você é uma criança boa e se comportou bem a semana toda.
Perturbado a mais não poder, Julião Mastakovitch lançou mais uma vez um olhar em roda, e baixou a voz de modo que a sua pergunta, formulada em tom impaciente e embargada pela emoção, saiu quase imperceptível:
- Diga-me, gentil menina: você gostará de mim se eu fizer uma visita a seus pais?
Havendo proferido tais palavras, Julião Mastakovitch quis beijar a pequena mais uma vez; mas o menino, vendo-a prestes a romper no choro, puxou-a pela mão e, compadecido, começou, ele próprio, a choramingar.
Dessa vez Julião Mastakovitch aborreceu-se deveras.
- Vai-te embora - disse ao menino - Vai para a sala brincar com os teus camaradas.
- Não vá, não - protestou a menina. - Você é que deve ir-se embora. Deixe-o aqui, deixe-o - disse quase soluçando.
Alguém fez barulho à porta. Assustado, Julião Mastakovitch ergueu no mesmo instante o corpo majestoso. O menino ruivo, porém, assustou-se ainda mais do que ele, largou a mão da menina e, devagarinho, roçando a parede, caminhou do salão à sala de jantar. Para não despertar suspeitas, Julião Mastakovitch também passou à sala de jantar. Estava vermelho feito uma lagosta e, mirando-se ao espelho, parecia até envergonhado de si mesmo, talvez arrependido da sua sofreguidão. Teria sido o cálculo feito na ponta dos dedos que o arrebatara a ponto de inspirar-lhe, apesar de toda a sua seriedade e gravidade, um procedimento de criança? Aproximava-se de chofre do seu objectivo, embora este não viesse a tornar-se um objectivo real antes de cinco anos, no mínimo.
Acompanhei o respeitável cavalheiro a sala de jantar, e ali testemunhei um espectáculo curioso. Rubro de raiva e despeito, Julião Mastakovitch perseguia o menino ruivo, o qual, recuando cada vez mais, já não sabia para onde correr:
- Sai daqui! Que diabo vens fazer aqui, velhaco? Vieste roubar frutas, hem? Vieste? Fora daqui, patife! Vai, fedelho, procura os teus camaradas!
Espantado, o pequeno recorreu a um expediente extremo: foi esconder-se debaixo da mesa. Então o seu perseguidor, no auge da excitação, puxou do bolso o grande lenço de baptista e, brandindo-o, procurou enxotar o menino do seu esconderijo. Este se encolhia caladinho, sem se mexer. Cumpre observar que Julião Mastakovitch era um tanto gordo: rapaz bem nutrido, corado, barrigudo, de pernas robustas, - em uma palavra, como se costuma dizer, redondo e forte como uma noz. Suava, enrubescia, arfava terrivelmente. Estava exasperado por um sentimento de indignação e, quem sabe, de ciúme.
Não pude conter uma gargalhada. Julião Mastakovitch virou-se e, a despeito de toda a sua importância, ficou mortalmente acanhado. Nesse instante, na porta oposta, apareceu o dono da casa. O ruivinho saiu logo do esconderijo e pôs-se a limpar os joelhos e os cotovelos. Julião Mastakovitch, com um gesto rápido, levou ao nariz o lenço que tinha na mão, seguro por uma das extremidades.
O dono da casa fitava-nos aos três, perplexo, mas, como homem que conhece a vida e a considera pelo lado sério, resolveu aproveitar a circunstância de encontrar-se quase a sós com o seu hóspede.
- É este o menino - disse indicando o ruivinho - que tive a honra de lhe recomendar...
- É? - respondeu Julião Mastakovitch, que ainda não voltara inteiramente a si.
- É filho da governanta de meus filhos - prosseguiu o dono da casa em tom de solicitação - , uma senhora pobre, viúva de um funcionário honesto; portanto, Julião Mastakovitch... se for possível...
- Mas não é! - exclamou sem demora Julião Mastakovitch. - Perdoe-me, Filipe Alexeievitch, é totalmente impossível. Pedi informações... No momento não há vaga, e, ainda que houvesse, já se tem dez candidatos, cada um mais qualificado que este…
- Sinto muito... muitíssimo...
- É pena - disse o dono da casa. - É um menino bonzinho, modesto...
- Pelo que vejo, é um grandíssimo vadio, - estourou Julião Mastakovitch, com uma careta histérica. - Sai daí, menino. Que é que tu queres aí? Vai brincar com os teus camaradas - disse ainda, voltando-se para o ruivinho.
Não conseguindo mais conter-se, olhou para mim de soslaio. Por minha vez, não pude deixar de lhe rir deliberadamente nas barbas. Ele desviou de mim os olhos, e em voz bem alta perguntou ao dono da casa quem era aquele rapaz esquisito. Saíram os dois da sala cochichando. Vi que Julião Mastakovitch, ouvindo as explicações de seu hospedeiro, abanava a cabeça, meio desconfiado.
Ri a bom rir com os meus botões, e voltei ao salão. Rodeado de mães, de pais e dos donos da casa, o grande homem explicava alguma coisa com muito calor a uma senhora a quem acabavam de apresentá-lo. Esta segurava pela mão a menina com quem, dez minutos antes, Julião Mastakovitch representara a sua cena no pequeno salão. Agora ele estava-se derramando em extáticos elogios à beleza, aos talentos, à graça e à boa educação da gentil menina. Manifestamente engodava a mãezinha, que o escutava quase com lágrimas de enlevo. Os lábios do pai sorriam e o dono da casa alegrava-se com essas alegres efusões. Os próprios convidados tomavam parte no júbilo; até os brinquedos das crianças foram suspensos para não se perturbar a conversa. Era uma atmosfera quase religiosa. Logo depois, ouvi a mãe da interessante pequena, comovida até o fundo da alma pedir a Julião Mastakovitch, com expressões escolhidas, que lhe desse a subida honra de distinguir-lhe a casa com sua preciosa visita, e ele aceitou o convite com entusiasmo; enfim, ouvi os demais convidados, no momento da despedida, expandirem-se, como o exigiam as conveniências, em louvores comovidos ao rico negociante, a sua mulher e a sua filha, e principalmente a Julião Mastakovitch.
- É casado esse cavalheiro? - perguntei em voz quase alta a um conhecido que estava mais perto dele. Julião Mastakovitch enviou-me um olhar indagador e feroz.
- Não - disse-me o meu conhecido, profundamente penalizado com a leviandade que eu de propósito cometera.
Passava eu, há pouco tempo em frente à igreja de..., quando um grande ajuntamento me despertou a atenção. Em redor falava-se de um casamento. O dia estava nublado, começava a chuviscar; entrei na igreja abrindo caminho através da multidão. Logo avistei o noivo. Era um rapaz baixo, gordo, bem nutrido, de ventre ponderável, muito enfeitado, que corria para todos os lados, se agitava sem parar, dava ordens. Enfim, levantou-se um murmúrio de vozes anunciando a chegada da noiva. Fendi a turba de curiosos e vi uma jovem de admirável beleza, para quem a primavera apenas começava. Mas estava pálida e parecia triste a linda noiva. Olhava distraída e tinha os olhos vermelhos, o que me deu impressão de lágrimas recentes. A severidade clássica de suas feições emprestava-lhe à beleza uma expressão algo solene. Através daquela severidade, daquela gravidade, de toda aquela tristeza, transpareciam os traços de uma criança inocente, algo de incrivelmente ingénuo, juvenil e ainda não formado, que parecia, sem palavras, implorar piedade.
Ouvi observar que ela mal acabava de completar dezasseis anos. Examinando atento o noivo, nele reconheci Julião Mastakovitch, que eu não via desde cinco anos. Olhei para ela... Meu Deus! Fendi a multidão outra vez para sair da igreja o mais breve possível. Ainda ouvi um espectador dizer que a noiva era rica, que tinha quinhentos mil rublos de dote... e não sei mais quanto para o enxoval.
- "Então o cálculo era justo" - disse comigo. E saí para a rua.
Fiodor Dostoiévski
A tortura da carne
Eugênio Irtenieff tinha razões para aspirar a uma carreira brilhante. Para tal nada lhe faltava, a sua educação fora muito cuidada; terminara com brilho os estudos na Faculdade de Direito de S. Petersburgo e, por intermédio do pai, falecido havia pouco, conseguira as melhores relações na alta sociedade. Basta dizer que entrara para o Ministério pela mão do próprio Ministro. Possuía também uma avultada fortuna, embora esta já estivesse comprometida. O pai vivera no estrangeiro e em S. Petersburgo e dava a cada um dos seus filhos, Eugênio e André, uma pensão anual de seis mil rublos, e ele e a mulher de nada se privavam, gastavam bem. No verão, passava dois meses no campo, mas não administrava diretamente as suas propriedades, confiando tal encargo a um encarregado que por sua vez, embora fosse pessoa da sua inteira confiança, deixava andar tudo ao deus-dará.
Por morte do pai, quando os dois irmãos resolveram liquidar a herança, apareceram tantas dívidas que o advogado aconselhou-os a ficarem apenas com uma propriedade da avó, que fora avaliada em cem mil rublos, e desistirem do restante. Mas um vizinho da herdade, igualmente proprietário, que tivera negócios com o velho Irtenieff, veio a S. Petersburgo propositadamente para apresentar uma letra aceite por este - e fez-lhes saber que, apesar das grandes dívidas, poderiam chegar a acordo com ele e ainda refariam grande parte da fortuna. Para tal, bastava que vendessem a madeira, alguns bocados de terreno bravio e conservassem o melhor, isto é, a propriedade de Semionovskoié, uma verdadeira mina de ouro, com as suas quatro mil geiras de terra, duzentas das quais de belos pastos, e a refinaria. Afirmou ainda que, para tal se arranjar, era indispensável que uma pessoa enérgica se entregasse de corpo e alma a essa tarefa instalando-se no campo para administrar a herdade inteligente e economizante.
O pai morrera na altura da quaresma e na primavera, Eugênio foi à propriedade; depois de uma inspeção minuciosa, resolveu pedir a sua demissão de oficial do exército e fixar lá residência com a mãe, a fim de dar execução às sugestões do vizinho. Mas antes disso, contratou o seguinte com o irmão: pagar-lhe anualmente quatro mil rublos, ou entregar-lhe de uma vez só oitenta mil, com o que ficariam saldadas as suas contas.
Eugênio, logo que se instalou com a mãe na velha casa, atirou-se com coragem e prudência à revalorização das terras. Pensa-se, em geral, que os velhos são conservadores impenitentes e que, pelo contrário, os novos tendem mais para as modificações. Mas não é bem assim! Às vezes, mais conservadores são os novos que desejam viver e não têm tempo de pensar na maneira como devem fazê-lo, por isso se entregam à vida tal como ela é.
Contudo não era este o caso de Eugênio. Agora, que vivia no campo, o seu sonho, o seu ideal máximo, era restabelecer, não o modo de vida do pai, que fora um mau administrador, mas sim as medidas adotadas pelo avô. Em casa, no jardim, em toda a parte, procurava ressuscitar o método de então, para sentir ao redor a alegria de todos, o bem-estar e a ordem. Em casa, no jardim, em toda a parte. Era preciso ir de encontro às exigências dos credores e dos bancos e, para tal, procurava vender terras e adiar pagamentos... Depois, era forçoso arranjar dinheiro para as culturas, por administração direta servindo-se dos próprios criados no amanho da imensa propriedade de Semionovskoié, com as suas quatrocentas geiras de terreno de cultivo e a sua refinaria. Impunha-se que a casa e o parque não tivessem o aspecto de abandono e ruína. A tarefa parecia exaustiva mas a Eugênio não faltava força de vontade. Tinha vinte e seis anos, era de estatura mediana, robusto e sanguíneo, tinha os músculos desenvolvidos pelo exercício, as faces rosadas, os dentes fortes, os cabelos anelados apesar de pouco espessos. O seu único defeito era a miopia, agravada pelo uso dos óculos, que não podia deixar.
Era uma destas pessoas que, quanto mais as conhecemos, mais gostamos delas. A mãe sempre manifestara por ele uma exagerada preferência e, depois da morte do marido, sentiu que aumentava a sua ternura pelo filho, como se nele encontrasse toda a sua vida. E não era só a mãe que o amava. Também os companheiros do colégio e da universidade lhe dedicavam uma grande estima. O mesmo acontecia com os estranhos. Ninguém tinha coragem de pôr em dúvida uma afirmação sua, ninguém o supunha capaz de mentir, tão sincera era a sua expressão, tão francos eram os seus olhos.
A sua figura em muito o ajudava nos negócios. Os credores tinham confiança nele e concediam-lhe, muitas vezes, aquilo que negavam a outros. Um camponês ou um staroste, capazes de cometer a maior vilania, não ousavam enganá-lo, porque lhes era agradável entabular relações com um homem tão bondoso e, sobretudo, tão franco, tão leal.
Era em fins de Maio. Bem ou mal, Eugênio conseguira resgatar as hipotecas das suas terras incultas, que foram vendidas a um negociante, que ainda por cima, lhe emprestou dinheiro para comprar o gado e as alfaias agrícolas de que necessitava. Havia já trabalhadores nas dependências da quinta e comprara oitenta carros de adubo. No entanto, reconhecia que, apesar de toda a prudência e boa vontade, qualquer descuido poderia desmoronar-lhe o pouco sólido castelo da vida.
Entretanto deu-se um acontecimento que, embora de pouca importância, muito contrariou Eugênio. Ele, que até aí levara uma vida de rapaz solteiro, tivera, como é natural, relações com mulheres de diferentes classes sociais. Não era um devasso mas, segundo ele próprio afirmava, também não era um monge. Por isso gozara da vida tanto quanto lhe exigia a saúde do corpo e a liberdade do espírito. Desde os dezasseis anos que tudo lhe correra bem e não se corrompeu nem contraiu qualquer doença. Em S. Petersburgo fora amante de uma costureira; porém, como esta adoecesse, procurou substitui-la, e a sua vida em nada se modificara.
Mas desde que, havia dois meses, se tinha instalado no campo, não voltara a ter relações com qualquer mulher. Uma continência tal principiava a enervá-lo. Precisaria de ir à cidade.
Eugênio Ivanovitch começou a seguir com uns olhos concupiscentes as moças que encontrava. Sabia bem que não era bonito ligar-se a qualquer mulher do campo. Sabia, isto pelo que o informaram, que o pai e o avô tiveram uma conduta que sempre se distinguira dos outros proprietários, nunca se metendo com as criadas de casa ou as diaristas. Por isso, resolveu seguir-lhes o exemplo. Mas, com o tempo, sentindo-se cada vez mais inquieto, pensou que seria possível arranjar uma mulher, isto sem que ninguém o soubesse... Quando falava com o staroste ou com os carpinteiros, encaminhava a conversa para o assunto, prolongando-a propositadamente. Entretanto, sempre que se lhe proporcionava o ensejo, olhava para as camponesas com mal contido interesse.
Contudo, uma coisa é tomar uma decisão e outra é efetivá-la. Dirigir-se pessoalmente a uma mulher, não era possível. E qual? E onde? Era precisa a intervenção no caso de uma terceira pessoa. Mas quem?
Uma vez sucedeu-lhe ter de entrar em casa do guarda-caças, um antigo caçador, ao serviço da casa, no tempo de seu pai. Eugênio Irtenieff pôs-se a conversar com ele. O guarda contou-lhe velhas histórias de orgias e caçadas e Eugênio pensou, logo, que talvez fosse possível conseguir alguma coisa naquela cabana, em plena floresta. O que não sabia era como o velho Danilo receberia a proposta. "É capaz de ficar indignado", disse de si para si. "Mas também pode ser que não se importe..." Tais eram os pensamentos de Eugênio enquanto o velho falava. A certa altura, este contou como uma vez conseguira uma mulher para Prianitchnikoff. Vou tentar, decidiu-se por fim.
- Seu pai, que Deus tenha em descanso a sua alma, não se metia nessas coisas...
Para apalpar o terreno, Eugênio perguntou:
- E você prestava-se a esses papéis?
- Ora! Que mal tem isso? Ela gostava e Fédor Zakaritch também. E como ele me dava sempre um rublo, por que não havia de auxiliá-lo? Afinal, um homem é um homem...
Parece-me que posso falar, pensou Eugênio. E começou:
- Pois, amigo Danilo, você bem sabe que, e - sentiu-se corar até às orelhas - , afinal de contas, não sou nenhum frade, estou acostumado...
Percebeu que as suas palavras eram estúpidas, mas verificou que Danilo esboçava um sorriso de aprovação.
- Por que o não disse há mais tempo? Sim, tudo se pode arranjar. Diga qual delas prefere.
- É indiferente. O que é preciso é que tenha saúde e não seja muito feia.
- Está bem - disse Danilo. - Tenho uma, muito bonita, que casou no outono, debaixo de olho.
E segredou qualquer coisa a Eugênio, que o deixou espantado.
- Mas, não - disse ele. - Não é propriamente isso o que eu pretendo. Pelo contrário: quero uma mulher sem compromissos, mas que seja saudável.
- Muito bem! Stepanida serve-lhe. O marido trabalha na cidade. É como se fosse uma mulher solteira. Além disso, é uma bela moça, muito desenxovalhada. O senhor vai ficar satisfeitíssimo. Amanhã já lho direi. Venha cá, e ela...
- Quando?
- Amanhã, se quiser. Vou comprar tabaco e passarei por sua casa. Esteja ao meio-dia no bosque, perto da clareira. Ninguém os verá a essa hora, porque depois do almoço, todos dormem a sesta.
- Está bem.
Uma comoção extraordinária se apoderou de Eugênio ao voltar para casa. Que irá acontecer? Como será essa camponesa? Feia? Nojenta? Não, algumas até são bem lindas, murmurou recordando-se das que já lhe tinham atraído a atenção.
No dia seguinte, à hora combinada, foi à choupana do guarda. Danilo estava à porta e, com ar de importante, fez-lhe um sinal apontando na direção do bosque. O coração bateu-lhe com força. Dirigiu-se para o lugar indicado e não viu ninguém. Inspecionou as imediações e já ia a retirar-se quando ouviu o súbito estalar de um ramo seco. Voltou-se. A mulher estava atrás duma árvore, separada dele por uma vala apenas. Foi ao seu encontro. Picou-se numa urtiga em que não tinha reparado e caíram-lhe os óculos quando saltou para o outro lado do talude. Ei-lo junto de uma linda mulher, fresca, de saia branca, com uma bata vermelha, e um lenço da mesma cor na cabeça, os pés descalços, sorrindo timidamente...
- É melhor o senhor passar por esse atalho - disse-lhe a moça.
Aproximou-se dela e, depois de certificar-se que não era visto, abraçou-a. Dali a um quarto de hora separaram-se. Passou pela cabana de Danilo e, como este lhe perguntasse se estava satisfeito, atirou-lhe um rublo para as mãos, retomando em seguida o caminho interrompido.
Ia contente. A princípio tivera vergonha, mas agora sentia-se calmo, tranquilo e corajoso. Quase não encarara a mulher. Lembrava-se de que não lhe parecera feia nem fizera cerimónia.
Quem será ela?, perguntou a si mesmo. Chamava-se Petchnikoff, mas existiam duas famílias com esse nome. Talvez seja a nora do velho Mikhail. É com certeza. O filho trabalha em Moscou. Tenho de perguntar isto a Danilo.
Dessa altura em diante a vida de Eugênio, passou a ter encantos até aí desconhecidos. Sentia-se com mais coragem para tratar dos seus negócios. A tarefa assumida era bem difícil. Às vezes parecia-lhe que as forças iam faltar-lhe, antes de levar tudo a bom termo, que seria obrigado a vender as terras, e que seria em vão todo o seu esforço. E isso entristecia-o, pois mal pagava uma conta, outra aparecia em seu lugar.
Além disso, quase todos os dias surgiam dívidas ignoradas contraídas pelo pai. Sabia que, nos últimos tempos, ele pedira dinheiro emprestado a toda a gente. Por ocasião das partilhas, Eugênio convenceu-se de que ficava a ter conhecimento de todos esses empréstimos mas, a certa altura, avisaram-no de que havia ainda um de doze mil rublos, de que era credora a viúva Essipoff. Não existia qualquer documento considerado legal mas um recibo, que segundo a opinião do advogado oferecia dúvidas. Eugênio, porém, nem sequer podia conceber a ideia de se negar ao pagamento duma dívida contraída pelo pai. Quis apenas saber se efetivamente a dívida existia.
- Mamãe, quem é essa Essipoff, essa Caléria Vladimirovna Essipoff? - perguntou à mãe, enquanto jantava.
- Essipoff? Ah! foi pupila do teu avô. Por que faz essa pergunta?
E, como Eugênio lhe dissesse do que se tratava, a mãe acrescentou:
- Essa mulher devia ter vergonha... Tanto dinheiro que o seu pai lhe deu...
- Mas, não lhe deveria nada?
- Quer dizer... Dívida não. Seu pai, cuja bondade era infinita...
- Mas ele considerava ou não isso uma dívida?
- Que posso dizer? O que sei é que todas essas coisas lhe causam muitas dores de cabeça.
Eugênio percebia que Maria Pavlovna não tinha lá muito bem a consciência do que estava dizendo.
- O que deduzo de tudo isso é que é preciso pagar - disse o filho. - Amanhã irei a casa dessa Senhora perguntar-lhe se é possível um adiamento.
- Tenho pena de você, meu filho, por estar metido nesses trabalhos, mas realmente será melhor lá ir. Peça-lhe para esperar algum tempo - aconselhou a mãe.
Havia outra coisa que apoquentava Eugênio, era o fato de sua mãe não o compreender. Habituada a gastar às mãos-cheias durante toda a sua vida, não podia compreender a situação do filho, que dispunha somente de um rendimento de dois mil rublos e que, para refazer a casa, se via na necessidade de diminuir todos os gastos, fazer cortes nos salários do jardineiro, dos cocheiros e mesmo até nas despesas com a alimentação.
Como a maior parte das viúvas, sua mãe sentia pela memória do marido uma admiração que ultrapassava toda a afeição que por ele tivera em vida, e não admitia que nada do que por ele fora feito, se modificasse. Eugênio, com grande dificuldade, conseguia o arranjo do jardim e da estufa e das cavalariças com dois jardineiros e dois coveiros. Mas Maria Pavlovna, só porque não se queixava do pouco pessoal da cozinha, a cargo da antiga cozinheira, nem das áleas do jardim por não andarem rigorosamente amanhadas, nem de só terem um criado de mesa em vez de muitos, pensava ingenuamente que fazia tudo quanto uma mãe extremosa deve fazer por um filho.
Naquela nova dívida, em que Eugênio via um golpe que lhe podia arrasar a vida, Maria Pavlovna descobria apenas um ensejo para o filho mostrar a sua generosidade. Havia, ainda, uma circunstância que em muito concorria para Maria Pavlovna se não inquietar com a situação material da casa: tinha a certeza de que Eugênio havia de fazer um casamento brilhante. Conhecia até uma dezena de famílias que se julgariam felizes concedendo-lhe a mão de suas filhas.
Eugênio pensava também no casamento, mas não da mesma forma que sua mãe. A ideia de casar-se para pagar as dividas repugnava-lhe. Queria fazê-lo por amor. Olhava as moças que encontrava, examinava-as minuciosamente, comparava-as, mas não se decidia.
Entretanto, as suas relações com Stepanida continuavam e nada indicava que pensasse acabar com elas. Depois do primeiro encontro, Eugênio julgou que não a procuraria mais. Todavia, passado algum tempo voltou a sentir-se inquieto, e na sua inquietação evocava aqueles mesmos olhos negros e brilhantes, aquela mesma voz grave, aquele mesmo aroma de mulher fresca e sadia, aquele mesmo peito vigoroso que tufava a blusa. Tudo isto lhe passava pela mente associado à ideia de um bosque de nogueiras e plátanos, inundado de luz. Apesar de envergonhado, apelou outra vez para Danilo. E novamente a entrevista foi marcada para o meio-dia. Desta vez, Eugênio examinou-a demoradamente e tudo nela lhe pareceu atraente. Procurou conversar, falou-lhe do marido. Era, com efeito, o filho de Mikhail e trabalhava em Moscou como cocheiro.
- Bem... e que é que faz ele para você o enganar?
- Ah! - exclamou ela rindo. - Penso que ele, lá onde está, também se não priva de nada. Então, porque não hei-de eu fazer outro tanto?
Via-se que se esforçava por mostrar arrogância e isto pareceu a Eugênio encantador. Apesar disso não lhe marcou nova entrevista. Quando ela propôs que voltassem a encontrar-se sem a intervenção de Danilo, com quem não parecia simpatizar, Eugênio recusou-se. Esperava que fosse aquela a última vez. Apesar disso Stepanida agradava-lhe; de resto, entendia que uma ligação destas lhe era necessária e que daí não lhe viria nenhum mal.
No entanto, no íntimo, um juiz mais severo repreendia-o, e por isso Eugênio contava que fosse aquele o último encontro. Porém passou-se o verão e durante esse tempo encontraram-se uma dezena de vezes mas sempre com a interferência de Danilo. Certa ocasião, ela não apareceu, porque o marido chegara. Depois, ele regressou a Moscou e as entrevistas recomeçaram, a princípio com a cumplicidade de Danilo, mas, por fim, Eugênio marcava o dia e ela vinha acompanhada de outra mulher.
Um dia, precisamente à hora em que se devia realizar o encontro, Maria Pavlovna recebeu a visita duma moça com quem muito desejava casar o filho, o que tornou impossível a saída de Eugênio. Logo que pôde escapar-se, fingiu ir à granja e, por uma vereda, correu para o bosque, para o lugar da entrevista. Ela não estava, e tudo quanto havia no lugar fora destruído: nogueiras, cerejeiras e até os plátanos pequenos. Stepanida, como Eugênio a fizesse esperar, enervou-se e devastou tudo o que encontrou pela frente.
Eugênio ainda ali se demorou uns momentos, mas em seguida correu à choupana de Danilo e pediu-lhe que a convencesse a voltar no dia seguinte.
Assim se passou todo o verão. Estes encontros deram-se sempre no bosque, à excepção duma vez, já perto do outono, em que se encontraram na granja. A Eugênio nem lhe passava pela cabeça que aquelas relações viessem a ter, para si, qualquer complicação futura. Quanto ao caso de Stepanida, nem pensava nisso: dava-lhe dinheiro e tudo ficaria arrumado. Não sabia nem podia imaginar que toda a aldeia estava ao corrente das suas ligações, que todos invejavam Stepanida, lhe extorquiam dinheiro, a encorajavam, e que, sob a influência e os conselhos dos parentes, desaparecia completamente, para a moça, a noção do seu irregular comportamento. Parecia-lhe até que, pelo fato de os outros a invejarem, ela só procedia bem.
Muitas vezes Eugênio punha-se a discorrer: Admitamos que não está certo... e, embora ninguém diga nada, toda a gente deve saber... A mulher que a acompanha com certeza dá na língua... Parece-me que ando por mau caminho, mas como deve ser por pouco tempo.
O que mais aborrecia Eugênio era saber que ela tinha marido. A princípio, até sem saber porquê, imaginava-o feio e, se assim fosse, estava justificado em parte o procedimento da mulher. Mas quando uma vez o viu, ficou espantado; era um rapaz elegante, em nada inferior a ele, tinha até mesmo melhor apresentação. No primeiro encontro que tiveram depois disso, ele pô-la ao fato da impressão com que ficou a respeito do marido.
- Não há melhor em toda a aldeia! - exclamou ela com orgulho.
Isto mais espantou Eugênio. Uma vez, em casa de Danilo, no decorrer de uma conversa, este disse-lhe:
- Mikhail perguntou-me há dias se era verdade o Senhor andar a namorar-lhe a mulher. Respondi-lhe que de nada sabia.
- Ora! - disse ele - afinal de contas, antes com um fidalgo, do que com um camponês.
- E que mais disse ele?
- Nada, nada mais do que isto: - Vou saber a verdade e depois lhe farei ver.
- Se ele voltar, vou deixá-la.
Mas o marido lá ia ficando e as suas relações mantinham-se inalteráveis. Chegado o momento próprio, acabarei com isto duma vez para sempre, pensava. A questão parecia-lhe de fácil solução, tanto mais que nessa época andava muito ocupado com os seus trabalhos, a construção duma nova casa, a colheita, o pagamento de dívidas e a venda de uma parte das terras. Essas coisas absorviam-no inteiramente. E tudo isso era a vida, a verdadeira vida, enquanto as suas relações com Stepanida, que vendo bem não tomava muito a sério, não tinham o mínimo interesse. É certo que, quando lhe vinha o desejo de a ver, em nada mais pensava. Isto, porém, não durava muito: depois de uma entrevista, a esquecia de novo durante semanas e, às vezes, até mais.
Entretanto, começou a frequentar a cidade onde vivia a família Annensky e onde conheceu uma mocinha que acabava de sair do colégio. Com grande tristeza de Maria Pavlovna, Eugênio enamorou-se de Lisa e pediu-a em casamento. Assim terminaram as suas relações com Stepanida.
Que teria levado Eugênio a escolher para sua noiva Lisa Annensky? Não se encontra uma explicação, pois ninguém sabe o motivo porque um homem escolhe esta ou aquela mulher. Contudo nessa escolha havia uma série de prós e contras a considerar. Em primeiro lugar, Lisa não era o rico partido que a mãe sonhara para ele, nem embora fosse bonita, era uma dessas belezas que fascinam qualquer rapaz. Mas aconteceu conhecê-la precisamente na ocasião em que principiava a amadurecer para o casamento. Lisa Annensky, de começo agradara-lhe e nada mais. Porém, ao resolver fazer dela sua mulher, experimentou um mais vivo sentimento e percebeu que estava apaixonado. Lisa era alta, delgada e esbelta. Tinha a pele do rosto fina e branca com um leve e permanente rubor; os cabelos loiros, sedosos, longos e encaracolados; os olhos eram azuis, suaves e confiantes. Quanto às suas qualidades morais, nada delas conhecia. Não via mais que os seus olhos, que pareciam-lhe dizer tudo quanto ele precisava saber.
Desde os quinze anos, ainda colegial, que Lisa se enamorava de quase todos os rapazes que conhecia. Só se sentia feliz quando tinha algum namoro. Depois de sair do colégio, continuou a gostar de todos os jovens que via e, muito naturalmente, apaixonou-se por Eugênio logo que o conheceu. Era esse temperamento amoroso que lhe dava aos olhos aquela expressão tão doce que seduziu Eugênio.
Naquele mesmo inverno andava ela enamorada por dois rapazes, a um tempo, e corava, e ficava perturbada se acontecia algum deles entrar onde ela já estivesse, ou até quando deles se falava. Mas, desde que a mãe lhe dera a entender que Irtenieff parecia ter ideias de casar, o seu amor por ele cresceu a tal ponto que, de súbito, se esqueceu dos outros dois. E quando Eugênio começou a frequentar a casa, quando nos bailes dançava mais com ela do que com as outras, quando procurava unicamente saber se ela correspondia ao seu amor, então Lisa apaixonou-se por ele dum modo quase doentio. Via-o em sonhos e acreditava vê-lo na realidade. Nenhum outro homem existia para ela.
Depois do pedido de casamento, quando se beijaram e ficaram noivos, um só pensamento, um só desejo se sobrepunha a todos os pensamentos, a todos os desejos, o de ficar com ele, o de ser amada. Orgulhava-se dele, enternecia-se pensando nele e a ternura que ele lhe demonstrava fazia-a enlouquecer. Do mesmo modo Eugênio, quanto mais a conhecia, mais a adorava. Jamais esperara encontrar semelhante amor na vida.
Antes da primavera, Eugênio regressou a Semionovskoié, a fim de ver a propriedade, dar ordens e preparar a casa onde devia instalar-se após o casamento. Maria Pavlovna estava descontente com a escolha do filho, não só por não fazer o casamento brilhante a que tinha direito, como por não lhe agradar a mãe da sua futura nora. Se era boa ou má, ignorava-o; aliás não se preocupava muito com isso. Verificara que não era uma mulher alta, uma inglesa como dizia, e isto bastava para a impressionar desagradavelmente. Mas era preciso resignar-se a amá-la, para não desgostar Eugênio, e Maria Pavlovna estava sinceramente disposta a tal sacrifício.
Eugênio encontrou a mãe radiante de felicidade e alegria; arranjara tudo em casa e preparava-se para partir, logo que o filho trouxesse a sua jovem esposa. Ele, porém, pediu-lhe que se deixasse estar, e essa questão ficou ainda para ser resolvida.
À noite, depois do chá, como de costume, Maria Pavlovna, com um baralho de cartas pôs-se a fazer uma paciência. Eugênio, sentado a seu lado, ajudava-a. No fim, Maria Pavlovna fitou o filho e, um pouco hesitante, disse-lhe:
- Ouça, Eugênio, quero dizer-lhe uma coisa. Apesar de eu nada saber a esse respeito, penso que é preciso acabar inteiramente com todas as suas aventuras, para que nem você nem sua futura mulher possam mais tarde ter aborrecimentos. Compreende onde quero chegar?
Deste modo, Eugênio compreendeu logo que Maria Pavlovna se referia às suas relações com Stepanida, acabadas desde o outono, e lhes dava uma importância exagerada. Corou ao ver a bondosa Maria Pavlovna imiscuir-se num assunto que não poderia compreender. Garantiu-lhe que nada havia a recear, pois sempre se conduzira de modo a que nenhum obstáculo viesse entravar o casamento.
- Está bem, meu filho, não se zangue - disse-lhe a mãe, um tanto confundida.
Mas Eugênio notou que ela não dissera tudo o que pretendia. Com efeito, dali a pouco a mãe pôs-se a contar-lhe que durante a sua ausência lhe pediram que fosse madrinha duma criança nascida em casa dos Petchnikoff. Eugênio corou de novo. Maria Pavlovna continuou a conversar e, embora sem intenções reservadas, a certa altura disse que naquele ano somente tinham nascido meninos, o que provavelmente, era sinal de guerra. Em casa dos Vassine e em casa dos Petchnikoff os primogênitos eram rapazes. Maria Pavlovna queria contar isto sem parecer que o fazia premeditadamente, mas ficou arrependida de ter abordado o assunto ao notar o rubor do filho, os seus movimentos nervosos, o modo precipitado de acender o cigarro. Calou-se então. Ele não sabia como reatar a conversa, mas ambos se compreenderam mutuamente.
- Sim, é preciso que haja justiça, para que não existam favoritos como na casa de teu tio.
- Mamãe - respondeu Eugênio a seguir - eu sei porque fala assim. Garanto-lhe, porém, que a minha futura vida doméstica será para mim uma coisa sagrada. Tudo quanto a esse respeito se passou comigo, enquanto fui solteiro, está acabado e bem acabado, tanto mais que nunca tive ligações duradouras e ninguém tem portanto direitos sobre mim.
- Está bem! Sinto-me muito feliz por me falar assim - concluiu a mãe - isso, não vem senão confirmar os seus nobres sentimentos.
No dia seguinte pela manhã, Eugênio dirigiu-se à cidade. Pensava na noiva... e tinha esquecido Stepanida. Mas, dir-se-ia que propositadamente para relembrar-lha, ao aproximar-se da Igreja, encontrou um grupo de pessoas: era o velho Mateus, algumas crianças, mocinhas, duas mulheres, uma delas já idosa, a outra, elegante, que lhe pareceu conhecer, de lenço vermelho-escarlate. Ao encarar com ele, a velha saudou-o à moda antiga, parando; a outra, que levava o recém-nascido, inclinou apenas a cabeça e cravou nele os seus dois olhos alegres, risonhos e muito conhecidos. "Sim, é Stepanida, mas, como tudo acabou, não vale a pena olhar mais para ela. A criança? Talvez seja seu pai. Não! Mas que pensamento tão estúpido! O pai é certamente o marido".
Estava perfeitamente convencido de que, para ele, não houvera em toda aquela aventura mais do que uma necessidade fisiológica e que como tinha dado dinheiro a Stepanida o caso estava arrumado, que entre ele e Stepanida não existia agora qualquer ligação. E, ao pensar assim, Eugênio não procurava sufocar a voz da consciência, tanto mais que, após a conversa que tivera com a mãe sobre o assunto, nunca mais pensou nela nem a encontrara.
Depois da Páscoa celebrou-se o casamento e Eugênio trouxe a noiva para o campo. A casa estava preparada para condignamente receber os recém-casados. Maria Pavlovna quis retirar-se. Contudo, Eugênio e principalmente Lisa, pediram-lhe que ficasse. Ela acedeu, mas passou a ocupar uma outra parte da casa.
E, assim, começava para Eugênio uma vida nova.
Durante o primeiro ano de casado, Eugênio teve de vencer inúmeras dificuldades econômicas. Primeiro, viu-se obrigado a vender uma parte da propriedade a fim de satisfazer alguns compromissos mais urgentes; e depois outros surgiram e ele ficou quase sem dinheiro. A propriedade ia dando bom rendimento, mas era preciso mandar uma parte ao irmão e isso impedia-o de continuar com a laboração da refinaria. O único meio de sair de tal embaraço era lançar mão dos bens de sua esposa. Lisa, compreendendo a situação do marido, exigiu que ele fizesse uso do seu dote; Eugênio concordou, desde que metade da herdade ficasse registada em seu nome. Assim se fez, não por vontade da mulher, mas para que fosse dada uma satisfação à sua mãe.
Depois, sete meses após o casamento, Lisa sofreu um desastre. Saíra de carro ao encontro do marido que regressava da cidade. O cavalo, apesar de ser manso, espantou-se. Lisa, cheia de medo, atirou-se do carro. A queda não foi grande mas, como estava grávida, abortou.
A perda do filho tão desejado, a doença da mulher e as dificuldades financeiras, tudo acrescido da presença da sogra, que acorreu a tratar da filha, contribuíram para que esse primeiro ano de casado fosse extremamente difícil para Eugênio.
Contudo essas dificuldades não o fizeram desanimar, pois verificava que o sistema do avô, por ele adotado, ia dando resultado. Então, felizmente, já não existia o perigo de se ver obrigado a vender toda a propriedade para pagar as dívidas. A parte principal, agora em nome da mulher, estava salva e com uma excelente colheita de beterraba, vendida a bom preço, estaria assegurada a situação do ano seguinte.
Além disso encontrara na mulher aquilo que nunca esperara. Com efeito, Lisa ultrapassara toda a sua expectativa. Não se tratava da sua ternura, do seu entusiasmo amoroso. Mais do que tudo isso, Lisa convencera-se, logo a seguir ao casamento, de que, de todos os homens existentes no universo, o melhor era Eugênio Irtenieff. O melhor e o mais inteligente, o mais puro e o mais nobre.
Por conseguinte, o dever de todos era fazerem o possível para lhe serem agradáveis; como, todavia, não podia obrigar os estranhos a cumprir tal dever, a ela se impunha a necessidade de dirigir nesse sentido todas as suas forças. Assim foi. Aplicou toda a sua boa vontade em lhe adivinhar os gostos e os desejos, procurando satisfazê-los por mais dificuldades que para tal encontrasse. Graças ao seu amor pelo marido, sabia ler-lhe na alma. Compreendia, talvez, melhor do que ele o seu espírito e tratava de agir em conformidade com os sentimentos que ele traduzia, procurando adoçar-lhe desagradáveis impressões. Quase lhe adivinhava os próprios pensamentos. As coisas até então mais estranhas para ele, como os trabalhos agrícolas, a refinaria, a apreciação das pessoas, tornavam-se para ela, de repente, acessíveis e transformara-se numa companheira útil, insubstituível. Amava a mãe, mas, percebendo que a sua intromissão na vida do casal era desagradável a Eugênio, tomou logo o partido do marido, e tão resolutamente que ele se viu na necessidade de lhe recomendar moderação.
Possuía ainda, em grande dose, o bom gosto, o tato administrativo e era dócil. A tudo imprimia um cunho de elegância, e de ordem. Lisa compreendera qual era o ideal do marido e esforçava-se por atingi-lo.
Só um desgosto escurecia a sua felicidade conjugal: não tinham filhos. No inverno, porém, foram a S. Petersburgo consultar um especialista, que lhes afirmou ter Lisa muito boa saúde e ser possível verem, dentro em pouco, os seus desejos realizados.
Com efeito, no fim do ano, Lisa estava grávida novamente.
Não há bela sem senão e Lisa era ciumenta o que a fazia sofrer muito. Pensava que Eugênio não devia apenas viver só para ela, como também não admitia que outra mulher pudesse amá-lo. Mas como, residiam no campo, não havia muita razão para acirrados ciúmes. Por consequência, a existência decorria-lhes serena e calma.
Até a sogra se tinha ido embora. Só Maria Pavlovna, de quem Lisa era extraordinariamente amiga, aparecia de vez em quando e com eles ficava semanas inteiras. O trabalho de Eugênio ia-se tornando mais suave, a saúde de Lisa, apesar do seu estado, era excelente.
Eugênio levantava-se cedo e dava uma volta pela propriedade. Ao bater das dez horas ia tomar o café no terraço, onde o esperavam Maria Pavlovna, um tio que agora vivia com eles, e Lisa. Depois, não se viam até ao jantar, ocupando cada qual o tempo a seu modo; em seguida davam um passeio, a pé ou de carro. À noite, quando Eugênio regressava da refinaria tomavam chá; mais tarde, uma vez por outra, faziam qualquer leitura em voz alta; Lisa trabalhava ou tocava piano. Quando Eugênio precisava de se ausentar, recebia todos os dias carta da mulher. Mas, às vezes, ela acompanhava-o e sentia-se, com isso, particularmente alegre. No aniversário de um ou de outro reuniam alguns amigos, e era um gosto ver como Lisa sabia dispor as coisas de modo que estivessem satisfeitos. Eugênio sentia que admiravam a sua jovem e encantadora mulher, o que fazia com que ele a amasse ainda mais.
Tudo agora lhes corria bem. Ela suportava corajosamente a gravidez e ambos começavam a fazer projetos sobre a maneira de educar o filho. O modo de educação, os métodos a seguir, tudo isso era resolvido por Eugênio. Ela, afinal, não desejava senão uma coisa: proceder segundo a vontade do marido. Eugênio começou a ler muitos livros de medicina e prometia a si próprio que o menino havia de ser criado segundo os métodos da ciência. Lisa concordava naturalmente com esses projetos, e, numa perfeita comunhão de ideias, assim chegaram ao segundo ano do seu casamento, melhor, à sua segunda primavera de casados.
Era a véspera da Trindade. Lisa estava grávida de cinco meses e, embora tivesse os necessários cuidados, não andava muito bem disposta. A mãe de Lisa e a mãe de Eugênio, que nessa altura estava em casa dele, a pretexto de cuidar da nora, tinham frequentes disputas que muito aborreciam o casal.
Aconteceu que, por essa ocasião, Lisa resolvera mandar fazer uma grande limpeza a toda a casa, o que não acontecia desde a Páscoa; para ajudar os criados, chamou duas diaristas para lavarem os soalhos, janelas e móveis, bater os tapetes, pregar os reposteiros, etc.. De manhã cedo, as mulheres chegaram com grandes baldes de água e puseram-se a trabalhar. Uma delas era Stepanida que, por intermédio de um criado, conseguiu ser chamada: queria ver de perto a Senhora da casa. Stepanida vivia como dantes, sem o marido; e, como outrora, tinha entendimentos com o velho Danilo, que a surpreendera uma vez a roubar lenha. Foi depois disso que Eugênio a conheceu; e agora mantinha relações com um dos empregados do escritório da refinaria.
Afirmava que não pensara mais no Senhor. Ele agora tem a sua esposa - dizia ela - mas gostava de ver a casa que todos dizem estar muito bem posta.
Eugênio, desde que a encontrara com o filho nos braços, não a tornara a ver. Ela não trabalhava fora de casa, porque tinha de tomar conta da criança, e muito raramente ia à aldeia.
Naquela manhã, Eugênio levantou-se às cinco horas e saiu para o campo antes que chegassem as mulheres encarregadas da limpeza da casa; mas já havia gente na cozinha, perto do fogão, a aquecer água.
Contente, e cheio de apetite, Eugênio voltou para almoçar. Entregando o cavalo ao jardineiro, bateu com o pingalim na grama, ao mesmo tempo que repetia um dos seus estribilhos habituais. Ouvia-se o bater dos tapetes. Todos os móveis estavam fora de casa, no pátio. "Meu Deus, que limpeza anda Lisa a fazer. Eis o que é uma boa Dona de casa! Sim, e que Dona de casa!" dizia, ao lembrar-se de Lisa em roupas brancas, com aquele rosto radiante de felicidade que sempre apresentava quando o fitava. "Sim, é preciso mudar de botas", - e voltou a repetir a frase - "Sim, em Lisa cresce um novo Irtenieff".
E, sorrindo, empurrou a porta do quarto. Mas, no mesmo instante, a porta abriu-se, puxada de dentro, e ele deu de cara com uma mulher que saía do quarto, com um balde na mão, a saia enrolada, os pés descalços, as mangas arregaçadas até aos cotovelos. Afastou-se para a deixar passar. Ela afastou-se também, ajeitando com a mão húmida o lenço que escorregara.
- Pode passar - disse Eugênio, mas de repente reconheceu-a.
A mulher sorriu-lhe com os olhos, fitou-o alegremente e, soltando a saia, retirou-se.
Mas afinal que significa isto? Não é possível disse Eugênio franzindo o sobrolho e afastando com a mão, como se fosse uma mosca, certa ideia importuna. Estava aborrecido por tê-la visto mas, ao mesmo tempo, não podia afastar os olhos do seu corpo ondulante, dos seus pés descalços, dos seus braços, dos seus ombros, das graciosas pregas da saia vermelha, erguida até meia perna.
"Mas por que será que eu estou olhando para ela?" perguntou procurando desviar a vista. "Sim, tenho de mudar de calçado". Entrou no quarto e ainda não tinha dado cinco passos quando se voltou para a ver uma vez mais. Ela fazia qualquer coisa, a pequena distância e, no mesmo instante, também se voltou para Eugênio. "Ah! o que estou eu fazendo? Ela é capaz de pensar... Sim, com certeza já pensou."
O quarto ainda estava molhado. Uma mulher idosa e magra dava começo à lavagem. Eugênio avançou na ponta dos pés até onde se encontravam as botas. Ia a retirar-se quando a velha saiu também. Esta vai e Stepanida vem.
"Meu Deus, que irá passar-se? O que estou fazendo?" Pegou nas botas e foi calçar-se no vestíbulo. Escovou-se e apareceu no terraço onde já estavam a mãe e a sogra. Lisa, evidentemente, esperava-o. Entrou por outra porta ao mesmo tempo que ele.
Meu Deus, se ela, que me supõe tão puro e tão inocente, soubesse!, pensou Eugênio.
Lisa, como sempre, foi ao encontro do marido, radiante de felicidade. Mas, nesse instante, ela pareceu-lhe singularmente pálida, desfigurada, esquelética... Durante o café, as duas senhoras, trocaram insinuações, cujos efeitos Lisa tentava iludir habilmente.
- Estou morta por que terminem com a limpeza do seu quarto - disse ela ao marido. - Gosto de ver tudo bem arrumado...
- Deixe isso pra lá. E você dormiu depois de eu ter saído?
- Dormi. Sinto-me muito bem, até.
- Como pode uma mulher nesse estado sentir-se bem com este calor insuportável e num quarto com as janelas viradas para o sol, sem reposteiros nem cortinas? - disse Bárbara Alexievna, a mãe de Lisa. Em minha casa há sempre cortinas.
- Mas aqui às dez horas da manhã já temos sombra - retorquiu Maria Pavlovna.
- É por isso que há tantas febres... - A humidade... - tornou Bárbara Alexievna, sem reparar que estava em contradição consigo própria - O meu médico disse sempre que não se pode diagnosticar a moléstia sem conhecer o temperamento do doente. E ele sabe muito bem o que diz, é o melhor médico que há por estas redondezas. Também, pagamos-lhe cem rublos, por cada visita. O meu defunto marido não gostava de chamar o médico para ele; mas, em se tratando de mim, não olhava a despesas.
- Mas como pode um homem fugir a despesas, quando está em jogo a vida da mulher e do filho? - disse Eugênio.
- Uma boa esposa obedece ao seu marido - acrescentou Bárbara Alexievna. - Simplesmente, Lisa está ainda muito fraca depois da doença que teve.
- Não,mamãe, eu sinto-me bem. - E mudando de assunto - Não lhe serviram creme cozido?
- Eu não quero creme cozido. Gosto do creme fresco.
- Eu bem disse a Bárbara Alexievna, mas ela não faz caso - disse Maria Pavlovna, como que a justificar-se.
- E, realmente, não quero.
Pretendendo terminar uma conversa que lhe era desagradável, Bárbara Alexievna perguntou a Eugênio:
- Afinal, lançaram à terra os fosfatos?
Lisa, entretanto, corria a buscar o creme.
- Não vá, que não me apetece - gritou a mãe.
- Lisa! Lisa, mais devagar! - acudiu Maria Pavlovna. - Essas pressas podem dar mau resultado.
- Nada nos faz mal, quando estamos tranquilos de espírito - sentenciou Bárbara Alexievna, parecendo aludir a qualquer coisa.
Lisa, entretanto, corria a buscar o creme fresco.
Cabisbaixo, Eugênio bebia o café e ouvia em silêncio. Já estava habituado àquelas conversas que o irritavam particularmente. Queria refletir sobre o que se passara consigo naquele dia, e não o conseguia. Depois do café, Bárbara Alexievna retirou-se de mau humor. A conversa entre os três tornou-se depois simples e agradável. Mas Lisa reparou que alguma coisa preocupava Eugênio e perguntou-lhe se tinha tido algum aborrecimento. Como não estava preparado para essa pergunta atrapalhou-se um pouco ao responder negativamente. Lisa, no entanto, ficou desconfiada. Que alguma coisa o afligia, estava ela bem certa disso. Mas por que seria que ele não falava francamente?
No fim do almoço, separaram-se. Eugênio foi, como de costume, para o escritório. Não lia nem escrevia; sentado, fumava cigarro atrás de cigarro. O que o surpreendia e entristecia penosamente eram os pensamentos que, de repente, lhe vieram à cabeça, tanto mais que, desde que casara, se supunha liberto deles. Com efeito, a partir dessa data, não voltara a ter relações com Stepanida, nem com outra mulher que não fosse a sua. Intimamente regozijava-se com essa libertação, mas eis que, de súbito, como por acaso, verificava não estar de todo liberto, posto que tais sentimentos viviam dentro dele, incisivos e indomáveis.
Precisava de escrever uma carta. Sentou-se à secretária para esse efeito. Escrita a carta, esquecido completamente dos pensamentos de há pouco, dirigiu-se para a estrebaria. E, de novo, como de propósito ou por um infeliz acaso, quando ia descendo a escada, viu a saia vermelha, o lenço vermelho e, balançando os braços requebrando o corpo, ele passou à sua frente. Não só passou à sua frente, mas deu também uma pequena corrida, como se estivesse a brincar com ele. Neste momento, vieram-lhe à imaginação o meio dia brilhante, as urtigas, Danilo, a cabana e, à sombra dos plátanos, uma boca risonha que mordiscava folhas...
Não, é impossível deixar isso tudo, disse ele, e, esperando que as duas mulheres desaparecessem, tornou ao escritório. Era meio dia em ponto e contava lá encontrar o feitor que, com efeito, acabava de acordar. Espreguiçando-se e bocejando, olhava para o vaqueiro, que lhe dizia qualquer coisa.
- Vassili Nicolaievitch!
- Queira dizer, senhor.
- Preciso de lhe falar.
- Estou às suas ordens!
- Acabe o que estava a dizer.
- Verá que não pode com ele... - disse Vassili Nicolaievitch, voltando-se para o vaqueiro.
- É pesado, Vassili Nicolaievitch.
- Que há? - perguntou Eugênio.
- Foi uma vaca que pariu no campo.
- Bem. Vou dar ordens para arrearem; Nicolau que leve um carro dos grandes.
O vaqueiro saiu.
- Veja lá, Vassili Nicolaievitch, o que me havia de acontecer... - começou Eugênio, corando e sentando-se. - Calcule que em solteiro tive uma ligação... Talvez tenha ouvido falar nisso.
Vassili Nicolaievitch sorriu e, mostrando-se compadecido, perguntou:
- Trata-se da Stepanida?
- Sim. Peço-lhe, que não torne a contratá-la para trabalhar cá em casa. Compreenderá que isso é muito desagradável para mim...
- Foi o criado Ivan, quem possivelmente, deu essa ordem.
- Então, ficamos entendidos. Não acha que faço bem? - disse Eugênio para esconder a sua confusão.
- Vou já tratar disso.
E Eugênio tranquilizou-se pensando que, se passara um ano sem a encontrar, não seria difícil esquecê-la definitivamente. De resto, Vassili Nicolaievitch falará ao criado, este por sua vez falará a Stepanida, e ela compreenderá a razão por que não quero vê-la aqui, dizia consigo Eugênio, satisfeito por ter tido a coragem de se abrir com Vassili Nicolaievitch, embora isso lhe tivesse custado. "Sim, tudo, menos esta vergonha". E estremecia, só com a lembrança desse crime.
O esforço moral que fez, para ter aquele desabafo com Vassili Nicolaievitch e lhe dar aquela ordem, serenou Eugênio. Parecia-lhe que tudo estava arrumado e até Lisa notou que o marido voltava inteiramente calmo e mesmo mais alegre do que era costume. Se calhar estava aborrecido por causa das discussões entre minha mãe e a dele. Realmente, com a sua sensibilidade e o seu nobre caráter, é sempre desagradável ouvir alusões, hostis e de tão mau gosto, pensava Lisa.
O tempo estava lindo. As mulheres, segundo uma velha tradição, foram ao bosque apanhar flores, com as quais teceram coroas e, aproximando-se da escadaria da casa senhorial, puseram-se a dançar e a cantar. Maria Pavlovna e Bárbara Alexievna, com os seus elegantes vestidos, saíram para o terraço e acercaram-se da roda para ver as camponesas. O tio, um bêbedo muito devasso, que passava o verão com Eugênio, seguia-as, envergando um traje chinês.
Como de costume, havia uma grande roda gritante de cores vivas, de mulheres novas e de mocinhas, roda que era como o centro de toda aquela animação. Em volta dela, de todos os lados, como planetas que giram em torno do astro principal, moças de mãos dadas faziam rodar as saias; os rapazes riam com satisfação e por tudo e por nada, corriam e agarravam-se uns aos outros; os mais velhos, de poddiovka azul e preta, com bonés e blusas vermelhas, quando passavam, faziam estalar entre os dedos sementes de girassol; os criados e os estranhos olhavam, de longe, a roda.
As duas Senhoras aproximaram-se mais; Lisa pôs-se atrás delas, vestida de azul, com uma fita da mesma cor no cabelo, mostrando os braços bem torneados e brancos, e os cotovelos que saíam das largas mangas. Eugênio não desejava aparecer, mas seria ridículo esconder-se. Apareceu, pois, na escadaria, de cigarro na boca; saudou os rapazes e os camponeses e dirigiu-se a um deles. Nesse momento, as moças cantavam, batiam palmas e saltavam em animada roda.
- A Senhora chama-o - disse-lhe um criado aproximando-se dele. Lisa chamava-o para que ele visse uma das mulheres que melhor dançava. Era Stepanida. Vestia saia amarela, corpete sem mangas e ostentava lenço de seda. Estava enérgica, corada e alegre. Era, não havia dúvida, certo que dançava muito bem, mas Eugênio nem sequer deu por isso.
- Sim, sim, - respondeu ele enquanto tirava e voltava a pôr os óculos.
Desta forma nunca mais me vejo livre dela!, pensou. E não a fitava porque receava o seu encontro; mas, assim mesmo, olhando de soslaio, achou-a extraordinariamente insinuante. Além disso, lia-lhe nos olhos que ela também o via e se sabia admirada. Demorou-se apenas o bastante para não parecer grosseiro e, percebendo que Bárbara Alexievna o chamava, tratando-o com afetada hipocrisia por "querido", voltou as costas e foi-se embora.
Regressou a casa para não a ver, mas, quando subiu ao andar superior, sem saber como nem porquê, abeirou-se da janela e ali ficou a olhar para Stepanida, embevecido, enquanto as duas Senhoras e Lisa se conservavam perto da escadaria. Depois, retirou-se para que o não vissem e voltou para o terraço. Acendeu um cigarro e desceu ao jardim ao encontro da camponesa. Mal tinha dado dois passos na alameda, quando, por entre as árvores, descortinou o seu colete sem mangas sobre a blusa cor-de-rosa e o lenço vermelho. Ia com outra mulher. Para onde? De repente apoderou-se dele um desejo irreprimível, ardente. Como se obedecesse a uma força estranha, Eugênio dirigiu-se-lhe.
- Eugênio Ivanovitch! Eugênio Ivanovitch! Quero pedir-lhe um favor - disse, por detrás dele, uma voz.
Era o velho Samokhine, encarregado de abrir um poço. Parou, retrocedeu bruscamente e encaminhou-se para ele. Finda a conversa, voltou a cabeça e viu que as duas mulheres se dirigiam para o poço ou, pelo menos, tomavam esse caminho. Porém, não se demoraram e voltaram novamente para a roda.
Despedindo-se de Samokhine, Eugênio voltou a casa tão deprimido como se tivesse cometido um crime. Primeiro, Stepanida convenceu-se de que ele desejava vê-la; segundo, a outra, essa Ana Prokhorova, sabia de tudo, evidentemente. Sentiu-se abatido. Tinha a consciência de que perdera o domínio de si próprio, que era impelido por uma força estranha, que desta vez tinha escapado, por milagre, mas que, mais cedo ou mais tarde, sucumbiria.
Sim, estava perdido! Atraiçoar a sua jovem e terna mulher com uma camponesa! Aliás toda a gente o sabia! Era a derrocada da sua vida conjugal, fora da qual ele não poderia viver. Não, não! É preciso arrepiar caminho. Mas que devo fazer? Tudo o que me for possível, para deixar de pensar nela.
Não pensar!... E era precisamente nela que continuava à pensar! Via-a diante de si, até na sombra dos plátanos! Lembrou-se de que tinha lido algures a história de um velho que, para fugir à sedução de uma mulher sobre a qual devia colocar a mão direita, a fim de a curar, punha, no entanto, a esquerda por cima de uma fogueira. "Sim, estou disposto a queimar a mão, mas não quero sucumbir". Olhando à volta de si e vendo que se encontrava só no quarto, acendeu um fósforo e chegou-o aos dedos. Bem, agora pensa nela!, disse com ironia. Mas, sentindo queimar-se, retirou os dedos e atirou para o chão o fósforo, acabando por rir de si mesmo.
"Que estupidez! Não é preciso fazer isto. O que é preciso é tomar providências para que não a torne a ver. Afastar-me ou afastá-la. Sim, é melhor afastá-la. Dar-lhe dinheiro para que se instale com o marido noutro lugar. Isto começará a constar. Depois será o tema das conversas de toda a gente. Tudo, menos isso. Sim, tem de ser, dizia ele sem a perder de vista. Aonde é que ela vai?" perguntou a si próprio. Pareceu-lhe que Stepanida o vira perto da janela e, depois de o envolver num olhar significativo ia, de braço dado com a outra mulher, para os lados do jardim, requebrando-se.
Mesmo sem dar por isso, Eugênio dirigiu-se ao escritório. Vassili Nicolaievitch, de blusão novo, tomava chá com a mulher e uma visita.
- Diga-me, Vassili Nicolaievitch, pode dar-me atenção por um momento?
- Porque não? Aqui me tem.
- Não, vamos antes lá para fora.
- É para já. Passa-me o chapéu, Tamia, e tapa o samovar - disse Vassili Nicolaievitch, acompanhando Eugênio, de bom humor.
A este, pareceu-lhe, que Vassili Nicolaievitch tinha bebido um gole a mais; mas talvez fosse melhor assim, talvez encarasse com mais simpatia o caso que lhe ia expor.
- Ouça, Vassili Nicolaievitch, queria falar-lhe novamente acerca daquela mulher...
- Que há? Eu já dei ordem para que não voltem a chamá-la.
- Não é isso! Pensando melhor, não seria possível mandá-la daqui para fora? A ela e toda a família? É um conselho que desejo pedir-lhe.
- Mandá-los, para onde? - perguntou Vassili Nicolaievitch, com estranheza e Eugênio interpretou aquelas palavras com descontentamento e ironia.
- Pensei que lhes podia dar dinheiro ou até algum terreno em Kholtovskoié, mas com a condição de ela não permanecer aqui mais tempo.
- Mas como se há-de expulsar essa gente? Como poderemos nós arrancá-los da sua terra? Que mal lhe causa a sua presença? Em que é que os incomodam, senhor?
- É que, Vassili Nicolaievitch, você deve compreender, se uma coisa destas chegasse aos ouvidos de minha mulher, seria terrível...
- Mas quem terá o atrevimento de lhe dizer?
- Depois, seria para mim uma tortura constante viver, dia a dia, hora a hora, com receio de que ela viesse a saber...
- Não se apoquente. "Quem se recorda de faltas passadas, não mostra muito tino, e quem não pecou diante de Deus não é culpado perante o Czar".
- Em todo o caso, acho que seria preferível levá-los para fora daqui. Você não poderia tocar nisto ao marido?
- Mas para quê? Para que é que o senhor anda com esses escrúpulos? São coisas que acontecem. E agora, quem se atreveria a censurá-lo? Ora!
- Tenha paciência... fale com o homem...
- Bem, já que assim o quer, falarei, embora eu esteja convencido de que nada se arranjará.
Esta conversa fez serenar um pouco Eugênio. Chegou até a acreditar que, por causa do seu receio, exagerara o perigo em que estava. Afinal, voltara a ter qualquer entrevista com ela? Não, muito simplesmente, ia dar uma volta pelo jardim quando, por acaso, ela surgira. No dia da Trindade, depois do jantar, Lisa, passando pelo jardim, quis saltar uma valeta para ver no prado um pé de trevo que o marido desejava mostrar-lhe, mas, ao fazê-lo, caiu. Caiu suavemente, de lado, soltou um ai e Eugênio viu-lhe na cara uma expressão de sofrimento. Quis levantá-la mas ela afastou-o com a mão.
- Não, Eugênio, espera um pouquinho - disse com um sorriso forçado - parece que desloquei um pé.
- Vê? Há muito tempo que eu ando a dizer que no estado em que você está não deve andar pulando - censurou Bárbara Alexievna.
- Não, não é nada, mamãe. Eu levanto-me já.
Levantou-se com a ajuda do marido, mas no mesmo instante empalideceu e o terror estampou-se-lhe no rosto.
- Sim, parece que não me sinto bem - segredou-lhe, para que a mãe não ouvisse.
- Ah, meu Deus, o que fizeram? Eu bem lhe dizia que não andasse tanto - gritava Bárbara Alexievna. - Esperem, que eu vou chamar alguém. Ela não deve caminhar. É preciso levá-la.
- Não tem medo, Lisa? Venha - disse Eugênio, passando-lhe o braço esquerdo à volta da cintura.
- Segure-se no meu pescoço. Vamos, isso mesmo - e, inclinando-se, levantou-a com o braço direito. Nunca mais Eugênio esqueceu a expressão contristada e ao mesmo tempo feliz que se reflectia no rosto de Lisa.
- Não acha que peso muito, meu amor? - perguntou-lhe ela sorrindo. - Olha a mamãe correndo! - E, dobrando-se para ele, beijou-o.
Eugênio gritou a Bárbara Alexievna que não se afligisse porque ele podia bem com Lisa. Mas a sogra, parando, começou a gritar ainda com mais força:
- Você vai deixá-la cair, pela certa. Cuidado! Não tem a consciência...
- Posso bem com ela, esteja descansada...
- Não posso, não quero ver a morte da minha filha - e correu para o fundo da alameda.
- Isto não é nada, vai ver - afirmou Lisa a sorrir.
- Oxalá que não suceda como da outra vez!
Embora Lisa pesasse um pouco, Eugênio, orgulhoso e alegre, transportou-a até casa, não querendo entregá-la à criada de quarto nem ao cozinheiro, que Bárbara Alexievna encontrara e mandara ao encontro deles. Levou Lisa até ao quarto e deitoua na cama estendendo-a ao comprido.
- Bem, vai embora - disse ela e, puxando-lhe a mão, beijou-o. - Nós cá nos arranjaremos, eu e Annuchka.
Maria Pavlovna viera também, a correr. Enquanto despiam Lisa e a metiam no leito, Eugênio, sentado numa sala próxima, com um livro na mão, esperava. Bárbara Alexievna passou diante dele com um ar tão mal encarado e tão carregado de censuras que deixou o genro aterrado.
- Que aconteceu - inquiriu.
- Por que pergunta? Aconteceu o que possivelmente desejava ao obrigare sua mulher a saltar a valeta.
- Bárbara Alexievna! - exclamou ele indignado. - Eu não lhe admito tais insinuações! Se me quer atormentar e envenenar a vida... - ia continuar: "Vá-se embora", mas suspendeu a frase. - A senhora não tem vergonha de me atribuir essas ideias? Não percebo porquê?
- Agora já é tarde! - e retirou-se, sacudindo com violência a coifa, ao transpor a porta. E saiu.
A queda fora efetivamente desastrosa. O pé deslocara-se, mas o pior era que o abalo sofrido podia ocasionar um aborto. Toda a gente sabia que, naquela emergência, nada havia a fazer. O mais recomendável era deixá-la repousar. Apesar disso, resolveram chamar o médico quanto antes.
"Meu prezado Nicolau Semiwovitch - escreveu Eugênio - você tem sido sempre muito amável para connosco e, por isso, mais uma vez lhe peço que venha acudir a minha mulher; ela... etc..".
Depois de escrever a carta, dirigiu-se à cavalariça, a fim de indicar qual o carro e os cavalos que deviam seguir para trazer o médico. Depois, voltou para casa. Eram aproximadamente dez horas da noite. Lisa, na cama, dizia que já se sentia bem e que nada lhe doía. Bárbara Alexievna, sentada à cabeceira, oculta por detrás duma rima de papéis de música, trabalhava numa grande coberta vermelha e o seu rosto denunciava que, depois do que se passara, não voltaria a haver paz naquela casa.
- Os outros podem fazer o que quiserem; eu cá entendo que já cumpri o meu dever.
Eugênio compreendia bem os sentimentos que a animavam, mas fingia não dar por isso. Contou, com ar satisfeito e desembaraçado, que já tinha enviado a carruagem e que a égua Kavuchka puxava muito bem, engatada à esquerda.
- Quando se trata de pedir socorros urgentes é realmente ocasião propícia a experiências com cavalos? Oxalá que não se atire também com o doutor para algum barranco - disse Bárbara Alexievna, olhando fixamente detrás dos óculos, para o trabalho, que chegara agora para junto da lâmpada e sobre o qual se inclinara.
- De qualquer modo, era preciso mandá-lo buscar... Fiz o que me pareceu melhor.
- Sim, lembro-me muito bem de que os seus cavalos quase me atiraram contra uma escada...
Era uma invenção sua, já antiga; mas, desta vez, Eugênio cometeu a imprudência de afirmar que as coisas não se tinham passado como ela pretendia mostrar.
- Razão tenho eu para dizer... e quantas vezes já o disse ao príncipe, que muito me custa viver com gente injusta e falsa. Suporto tudo, mas isso não. Nunca!
- Se a alguém isto custa, é principalmente a mim - afirmou Eugênio.
- Bem se vê! Claro!
- Mas que é que se vê?
- Nada. Estou a contar as malhas.
Nesse momento, Eugênio encontrava-se perto do leito. Lisa fitava-o. Com uma das mãos, que tinha fora das roupas, ela pegou-lhe na dele e apertou-a. "Tenha paciência, por mim, ela não impedirá que nos amemos", dizia o seu olhar.
- Não farei nada - murmurou ele beijando-lhe a mão húmida e, depois, os belos olhos, que se fecharam languidamente.
- Será como da outra vez? - perguntou ele. - Como te sentes?
- É horrível pensar nisso, mas julgo que o menino vive e viverá - respondeu ela, olhando para o ventre.
- Ah! é terrível, é terrível mesmo só pensar nisso.
Apesar da insistência de Lisa para que se retirasse, Eugênio ficou junto dela; dormitava, mas pronto a dispensar-lhe os seus cuidados. A tarde correu bem; se não esperassem pelo médico, talvez ela se levantasse. O médico chegou à hora da ceia. Disse que, embora tais acidentes pudessem ser perigosos, não havia indícios concretos e portanto só poderiam formular-se hipóteses. Aconselhou a que ficasse de cama e tomasse determinados medicamentos, posto que fosse contrário a drogas. Além disso, dissertou largamente sobre a anatomia damulher; Bárbara Alexievna escutava-o meneando a cabeça com ar de importância. Depois de receber os seus honorários, colocados na concha da mão como é da praxe, o médico retirou-se e Lisa ficou de cama durante uma semana.
Eugênio passava a maior parte do tempo junto da mulher. Tratava-a, conversava com ela, lia-lhe qualquer coisa e até suportava, sem enfado, Bárbara Alexievna, chegando mesmo a gracejar com ela. Mas não podia estar sempre em casa. Lisa mandava-o embora, receando que a sua permanência ali o aborrecesse, e ainda porque a propriedade necessitava constantemente da sua presença. Não podia estar sempre em casa. E Eugênio lá partiu, percorrendo os campos, o bosque, o jardim, o pomar; por toda a parte o perseguia a lembrança e a imagem de Stepanida; só raramente conseguia esquecê-la. Mas isso era o menos, porque talvez pudesse vencer esse sentimento: o pior é que dantes passava meses sem a ver e agora encontrava-a a cada passo. Stepanida compreendera, sem dúvida, que ele desejava reatar as antigas relações e procurava atravessar-se-lhe no caminho. Mas, como nada tinham combinado, não havia entrevistas.
Fazia apenas o possível para se encontrar com ele, como que por acaso.
O melhor lugar para tal era o bosque, onde as mulheres iam buscar sacos de capim para as vacas. Eugênio sabia disto e todos os dias passava por esses lugares. E todos os dias resolvia não voltar lá. Mas não passava um dia sem lá ir. Quando ouvia vozes, parava, com o coração a palpitar. Escondia-se atrás de uma moita, para ver se era Stepanida... Se fosse ela, ainda que estivesse só, não iria ao seu encontro, pensava ele. - Não, fugir-lhe-ia, mas tinha necessidade de a ver. Sim, tinha.
Uma vez encontrou-a. Ia a entrar no bosque quando ela saía com outras mulheres, levando um grande saco de capim às costas. Se tivesse vindo um instante mais cedo, talvez a tivesse encontrado no bosque; agora, porém, diante das outras mulheres, não poderia ir ter com ela. Apesar disso, correndo o risco de chamar a atenção das companheiras, Eugênio conservou-se atrás dum maciço de aveleiras. Como era natural, ela não apareceu e ele ali ficou por muito tempo. Meu Deus! com que atrativos ele a revia na sua imaginação! E não era uma vez, eram muitas, muitas vezes, cada vez mais viva e real... Nunca lhe parecera tão sedutora e nunca a possuira tão completamente.
Sentia que já não era bem senhor de si; aquilo enlouquecia-o. No entanto, não deixava de ser severo consigo próprio; compreendia a monstruosidade dos seus desejos e até dos seus atos. Sabia que, se a encontrasse em qualquer parte, num lugar escuro, bastaria tocar-lhe para que a sua paixão o empolgasse. Sabia que só se continha por vergonha dos outros, dela e talvez de si. E sabia que procurava forma de ocultar essa vergonha e pensava num lugar escuro ou num contato que viesse saciar-lhe a paixão.
Considerava-se, assim, um miserável, um criminoso, desprezava-se e abominava-se, indignado. E detestava-se por não ter cedido. Rogava a Deus diariamente que o fortalecesse, que o livrasse da perdição. Resolvia diariamente não dar mais um passo, nunca mais a fitar, esquecê-la; imaginava diariamente todos os meios de se libertar dessa obsessão e punha-os em prática. Mas tudo era em vão.
Um dos meios consistia em ocupar o seu espírito com qualquer outra ideia: outro era o trabalho físico e o jejum; um terceiro, a reflexão da vergonha que sobre ele cairia quando toda a gente, a mulher e a sogra viessem a saber. Fazia tudo isto e supunha dominar-se, mas, quando chegava ao meio-dia, a hora das antigas entrevistas, a hora em que costumava encontrá-la com o saco de capim, corria para o bosque só para a ver.
Assim passaram cinco penosos dias. Só a via de longe; nunca se aproximava dela.
Lisa melhorava pouco a pouco; já dava pequenos passeios mas inquietava-se com a mudança do marido, cuja causa ela não compreendia. Bárbara Alexievna retirou-se por algum tempo e em casa apenas ficaram o tio e Maria Pavlovna. Eugênio encontrava-se nesse estado de angústia, quando chegaram as grandes chuvas que se prolongam por alguns dias, como sucede sempre depois das tempestades de Junho. As chuvas fizeram suspender todos os trabalhos: não se podia juntar o estrume por causa da humidade e da lama e os camponeses esperavam em casa; os pastores dificilmente conseguiam meter os rebanhos nos redis, as vacas e os carneiros invadiam os pátios, e as mulheres descalças e de xale, patinhando na lama, procuravam os animais tresmalhados. Os caminhos estavam transformados em ribeiros, as folhas e a grama estavam ensopados, os riachos e as lagoas transbordavam. Eugênio ficara em casa com a mulher, que começara a sentir-se um pouco agoniada. Lisa várias vezes interrogara o marido sobre a causa daquela mudança de disposição, mas ele respondia-lhe com enfado dizendo que não tinha nada. Lisa desistira por fim de o interrogar e ficara triste.
Uma tarde, depois do almoço, estavam todos reunidos no salão e pela milésima vez o tio contava as suas aventuras mundanas. Lisa trabalhava num casaquinho de bebê e suspirava, queixando-se do mau tempo e de dores nos rins. O tio pediu vinho e aconselhou-a a que se deitasse. Eugênio aborrecia-se muito em casa; tudo ali lhe era desagradável. Fumava e lia, mas sem compreender o que lia. "Tenho que sair para ver o que se passa", disse, e levantou-se para sair.
- Leve o guarda-chuva.
- Não, tenho o casaco de couro, e não vou ao bosque.
Calçou as botas, vestiu o casaco de couro e foi até à refinaria. Mas ainda não tinha dado vinte passos quando encontrou Stepanida com a saia arregaçada até ao joelho, mostrando a perna branca. Caminhava segurando, com as mãos o xale que lhe cobria a cabeça e os ombros.
- Que procura? - perguntou sem saber com quem falava.
Quando a reconheceu já era tarde. Ela parou, sorriu, fitou-o demoradamente.
- Procuro um bezerrinho. Onde vai o Senhor com este tempo? - perguntou como se se vissem todos os dias.
- Vamos à cabana - disse Eugênio sem mesmo dar pelas palavras que pronunciara.
Ela fez, com os olhos, um sinal de assentimento e dirigiu-se para o jardim direita à cabana; ele seguiu o seu caminho com intenção de contornar o maciço de lilazes e ir juntar-se-lhe.
- Senhor! - gritaram-lhe atrás - a Senhora pede-lhe que vá a casa depressa.
Era o criado Miguel. Meu Deus! salvaste-me pela segunda vez!, pensou Eugênio; e voltou logo para casa. Lisa queria lembrar-lhe que ele prometera uma poção a certa doente e pedia-lhe que não se esqueceria de a arranjar.
Decorreram quinze minutos enquanto preparava a poção e, quando saiu, não se atreveu a ir diretamente à cabana receando que alguém o visse. Mal percebeu que não o viam, deu uma volta e dirigiu-se para a cabana. Sonhava vê-la ali sorrindo alegremente, mas não a encontrou, e não havia indício de lá ter estado. Pensou que não tivesse ido, que não compreendesse ou não ouvisse as suas palavras murmuradas entre dentes, ou que talvez não o quisesse. "E porque razão havia de lançar-se-me ao pescoço?" interrogara. "Tem o marido. Eu é que sou um miserável; tenho uma linda mulher e ando atrás de outra". Sentado na cabana onde a água escorria a um canto, Eugênio pensava. Que felicidade se ela tivesse vindo! Sozinhos ali, com aquela chuva! Possuí-la ao menos uma vez, quaisquer que fossem as consequências! "Ah, sim - lembrou-se - se ela veio deve ter deixado um rastro". Olhou para o chão, para um carreirinho sem grama e notou as pegadas de um pé descalço. Sim, ela tinha vindo. Já não hesitaria. Onde quer que a visse, iria ter com ela. Iria a sua casa, de noite. Esteve muito tempo na cabana acabando por se afastar ansioso e cansado. Levou a poção, regressou a casa e deitou-se à espera da hora do jantar.
"Mas é impossível!" dizia ele passeando no quarto, um horror! Durante o serão pensou que, apesar da sua sincera repugnância pela fraqueza que o subjugava e apesar da decidida intenção de lhe escapar, no dia seguinte aconteceria a mesma coisa. "Não, é impossível» dizia ele passeando no quarto, dum lado para o outro. «Deve existir qualquer solução para esta miséria. Meu Deus, que devo eu fazer?"
Alguém bateu à porta duma maneira especial. Percebeu que era o tio.
- Entre! - disse secamente.
O tio vinha como emissário, mas espontaneamente, falar-lhe de Lisa.
- Tenho ultimamente observado em você uma certa mudança e compreendo que certamente isso há de afligir a sua mulher. É certo que será aborrecido ter de abandonar a empresa em que se meteu, mas tem de ter paciência. Eu penso que deveria sair daqui com ela. Ambos ficariam mais sossegados. Não achava mal que fossem até à Criméia: o clima é esplêndido, há lá um afamado parteiro e vocês chegariam justamente na época das chuvas.
- Tio - disse emocionado Eugênio - posso confiar-lhe um segredo, um segredo horrível, vergonhoso mesmo?
- Então desconfia de teu tio?
- O tio pode auxiliar-me! E não apenas isso, mas salvar-me até - disse Eugênio. E a ideia de se abrir com o parente, que aliás não estimava, o pensamento de se apresentar sob o aspecto mais miserável agradava-lhe. Reconhecia-se fraco, culpado, e queria, portanto castigar-se, punir-se de todos os seus pecados.
- Pode falar, Eugênio: bem sabe como sou seu amigo - segredou-lhe visivelmente lisonjeado por descobrir um segredo, um segredo escandaloso de que seria confidente, além de que poderia ser útil ao sobrinho.
- Antes de mais nada, quero dizer-lhe que sou um canalha.
- O que você está dizendo?
- Como é que não hei- de considerar-me um criminoso, se eu, marido de Lisa, cuja pureza e cuja afeição por mim são indiscutíveis, se eu quero enganá-la com uma camponesa?
- O quê? Por enquanto, quer... Mas ainda não... Não é assim?
- Para o caso, é a mesma coisa. Se a não traí, não foi porque não fizesse esforços nesse sentido. As circunstâncias é que o proporcionaram.
- Mas, vamos lá a saber do que se trata.
- Escute: quando solteiro, caí na asneira de manter relações com uma mulher cá da terra. Encontrávamo-nos no bosque...
- E que tal? Era bonita? - perguntou o tio.
A essa pergunta, Eugênio franziu as sobrancelhas, mas fingindo não ouvir, continuou nervosamente.
- Realmente, eu pensei que daí nenhum mal resultaria para mim; que, depois de a deixar, tudo estaria terminado. E, assim, cortei relações com ela antes do meu casamento, e durante, quase um ano não a vi, nem nela tornei a pensar. Mas, de súbito, não sei como nem por quê, voltei a vê-la e senti-me novamente preso dos seus encantos. Chego a revoltar-me contra mim próprio, compreendo todo o horror do meu procedimento, quero dizer, do ato que estou pronto a praticar na primeira ocasião, e, apesar de reconhecer tudo isso, continuo a procurar essa ocasião, e até ao presente só Deus me tem livrado de assim proceder. Ontem ia encontrar-me com ela quando Lisa me chamou.
- Com aquela chuva?
- Sim... Estou cansado, tio, e resolvi confessar-lhe tudo e pedir-lhe que me ajude. O tio pode ajudar-me.
- Efetivamente, aqui reparam muito nessas coisas. Mais dia menos dia saberão tudo, se o não sabem já. Compreendo que Lisa, fraca como é, precisa de ser poupada...
Eugênio simulou mais uma vez não o ouvir, para chegar ao fim da sua narrativa.
- Peço-lhe que me ajude. Hoje foi o acaso que me impediu de cair, mas agora também ela sabe... Não me deixe só.
- Está bem, - disse o tio. - Mas está assim tão apaixonado?
- Oh! Não é bem isso. É uma força qualquer que me prende, me domina. Não sei o que hei-de fazer. É possível que quando me sentir com mais coragem...
- Bem, a única ajuda que posso lhe dar é esta: irmos todos para a Crimeia! Que acha?
- É uma solução que me agrada - respondeu Eugênio, - mas não vamos já, por hora ficarei aqui com o tio conversando um pouco.
Ao confessar o seu segredo ao tio, em especial aquilo que tanto o apoquentava após aquele dia da chuva, Eugênio sentiu-se mais aliviado. Marcou-se a partida para a semana seguinte. Daí a dias, Eugênio foi à cidade levantar dinheiro para a viagem, deu as necessárias ordens para que a lavoura não sofresse qualquer atraso e de novo se tornou alegre e otimista. Sentia-se renascer.
Partiu com Lisa para a Crimeia sem ver uma só vez Stepanida. Passaram dois meses deliciosos. Eugênio, com as profundas impressões experimentadas nos últimos tempos, esquecera-se completamente do passado. Na Criméia fez relações e novos amigos se lhes juntaram. A vida então tornara-se para Eugênio uma festa. Davam-se também com um velho marechal, pertencente à nobreza provinciana, homem liberal e inteligente que muito distinguia Eugênio.
No fim do mês de Agosto, Lisa deu à luz uma linda e sadia menina, depois dum parto inesperado e fácil. Em Setembro voltaram à casa de campo, trazendo consigo uma ama, porque Lisa não podia amamentar a criança. Completamente liberto das antigas apoquentações, Eugênio voltava feliz e parecia outro homem. Em seguida àqueles transes por que passam todos os maridos nesse momento difícil da vida das esposas, sentia que amava a sua cada vez com maior ardor. Aquilo que experimentava pela filhinha quando a segurava nos braços era um sentimento inédito, que fazia dele o mais feliz dos homens.
Acrescia que um novo interesse se juntara, agora, às suas ocupações. Com efeito, devido à sua intimidade com Dumchine, o velho marechal da nobreza, Eugênio interessava-se pelo Zemstvo, entendendo que era da sua obrigação tomar parte nos negócios públicos. Em Outubro devia ser convocada a assembleia para efeitos da sua eleição. Depois de regressar da Crimeia teve de ir, uma vez, à cidade e outra a casa de Dumchine. Não mais voltara a pensar nos tormentos que passara nem na luta que se vira obrigado a travar para não cair em tentação. Era com dificuldade que relembrava, agora, essa crise, cuja causa atribuía a uma espécie de loucura que se apoderara de si. Sentia-se livre, tão livre que uma vez estando a sós com o feitor, chegou a pedir, com toda a serenidade, informações sobre Stepanida.
- Que faz Petchnikoff? Agora está sempre em casa?
- Não. Continua permanentemente na cidade.
- E a mulher?
- Oh! Essa! Deu em droga. Agora vive com Zinovci. É uma perdida, uma desgraçada.
É melhor assim, pensou Eugênio, coisa estranha. O caso agora é por completo indiferente. Devo estar muito mudado.
E assim a vida para Eugênio corria à medida dos seus desejos: a propriedade pertencia-lhe inteiramente; a refinaria funcionava com regularidade, a colheita da beterraba tinha sido esplêndida, a mulher dera à luz uma linda menina, com a maior felicidade, a sogra tinha-se ido embora; e fora eleito por unanimidade. A seguir à eleição, Eugênio regressou a casa e foi muito felicitado. Viu-se obrigado a agradecer, e ao jantar bebeu cinco taças de champanhe. Tudo se lhe apresentava decididamente com um risonho aspecto. Tudo parecia estar resolvido.
Enquanto se dirigia para casa, ia pensando em vários projetos que tencionava realizar. O verão impunha-se, o caminho era lindo e o sol brilhava radiante. Ao aproximar-se da quinta, Eugênio pensava que, por causa da sua eleição, iria ocupar agora entre o povo a situação que sempre ambicionara, isto é, poderia dar trabalho a muita gente e dispor da influência política de que passava a gozar. Fantasiava já como daí a três anos sua mulher, as outras pessoas e os camponeses o julgariam. Por exemplo, aqueles que acolá vêm, pensava ao avistar um homem e uma mulher que se dirigiam para ele, com um balde de água, e que se detiveram para lhe dar passagem. O camponês era o velho Petchnikoff e a mulher era Stepanida!
Eugênio olhou para ela, reconheceu-a e sentiu alegremente que ficara absolutamente calmo. Ela estava cada vez mais bela mas isso em nada o perturbou. Dirigiu-se a casa. Lisa esperava-o na escada.
- Posso lhe dar um abraço - perguntou o tio?
- Sim, fui eleito.
- Magnífico! Agora é preciso beber!
Na manhã seguinte Eugênio percorreu toda a propriedade, o que já há algum tempo não fazia. Na eira estavam a funcionar as debulhadoras de trigo. Para inspeccionar o trabalho, Eugênio passou entre as mulheres não reparando em nenhuma delas. Mas, apesar dos seus esforços nesse sentido, por duas vezes notou os olhos pretos e o lenço vermelho de Stepanida. Ela transportava palha. Duas vezes, também, ela o olhou de soslaio e de novo Eugênio sentiu qualquer coisa que não sabia bem o que era. Mas no outro dia, quando voltou à eira, onde se deixou ficar duas horas, sem necessidade para tal, mas, apenas, para olhar a imagem daquela formosa mulher, Eugênio percebeu que estava irremediavelmente perdido. Outra vez os antigos tormentos, outra vez todo aquele horror e já não havia salvação possível.
Acontecera aquilo que sempre receara. No dia seguinte, à tarde, sem saber como, apareceu junto da sebe do pátio, em frente da granja onde certa vez, pelo Outono, tivera uma entrevista com Stepanida. Ia passeando mas, num dado momento, parou para acender um cigarro. Uma vizinha notou-o e, voltando para trás, ele ouviu dizer a alguém: "Vai, que ele está à tua espera, há mais de uma hora. Vai, não sejas tola!" Não podia voltar atrás; um camponês vinha agora ao seu encontro, mas viu uma mulher que corria para ele do lado da granja. Era Stepanida.
E a antiga luta recomeçou, mas com redobrado ímpeto. À noite, Eugênio imaginava coisas terríveis. Pensava que o seu viver era monótono, cheio de tédio, que a autêntica vida estava lá fora, em contacto com aquela mulher robusta, forte, sempre alegre. O seu desejo era arrancá-la de casa, metê-la numa carruagem ou sentá-la na garupa dum cavalo, e desaparecer na estepe ou ir para a América. E muitas ideias iguais lhe assaltavam o cérebro. Ao entrar no salão tudo lhe pareceu desconhecido, absolutamente estranho e sem significado
Levantou-se tarde mas cheio de coragem, decidido a esquecer aquela mulher, disposto a não pensar mais nela. Quase sem dar por isso passou toda a manhã alheio ao trabalho, fazendo esforços para fugir às preocupações. Aquilo que até ali lhe parecera de grande importância passava de repente a não ter qualquer valor. Inconscientemente, procurava enfronhar-se no seu trabalho. Julgava ser-lhe indispensável ver-se livre dos cuidados, das preocupações para devidamente refletir em tudo. Afastava os que estavam junto de si, ficava sozinho. Mas, logo que se sentia isolado, começava a passear pelo jardim ou pelo bosque. Todos aqueles lugares tinham sido testemunhas de cenas que o empolgavam arrebatadamente. Passeava pelo jardim e pensava que era preciso resolver qualquer coisa, mas não descobria o quê e, doida e inconscientemente, esperava. Esperava que um milagre a fizesse saber quanto a desejava e aparecesse ali, ou noutro lugar qualquer, onde ninguém os visse, ou que, numa noite escura, ela o procurasse para que todo o seu corpo lhe pertencesse, só a ele pertencesse.
Ora aqui está - dizia - aqui está: para me sentir feliz arranjei uma mulher saudável mas está demonstrado que se não pode brincar com as mulheres... Julgava tê-la atraído e foi ela, afinal, quem me prendeu nas malhas dos seus encantos, e agora não consigo libertar-me dela. Julguei-me senhor absoluto dos meus atos, mas isto não passava duma ilusão. Enganei-me a mim próprio quando resolvi casar. Tudo o que eu sentia era estupidez, era mentira. Desde a altura em que a possuí, experimentei um sentimento novo... O verdadeiro sentimento do homem adulto. Sim, não posso passar sem ela. Mas o que estou a pensar não passa duma tolice! Isto não pode ser! - exclamou subitamente... - O que é preciso é refletir, ver claramente o que tenho a fazer.
Deu uma volta pelos campos e continuou a pensar: Sim, para o meu caso só há dois caminhos a seguir: Aquele por onde enveredei desde que conheci Lisa, as minhas funções políticas, a lavoura, a minha filha, o respeito pelos outros. A fim de prosseguir nesse caminho é indispensável que Stepanida seja afastada definitivamente. O outro caminho será arrebatá-la ao marido, dar-lhe dinheiro, fazer calar as bocas do mundo e viver com ela. Mas para isso é necessário que Lisa e a minha filha desapareçam. Não, porque... A criança podia ficar... Mas o que é indispensável é que Lisa se vá embora e saiba de tudo. Que me amaldiçoe, mas que desapareça. É preciso que saiba que eu a troquei por uma camponesa, que sou um miserável, um homem sem vontade própria. Não, é horrível! Isto não pode ser! Talvez se arranje tudo doutra maneira... Lisa pode ficar doente, morrer... Ah, se ela morresse tudo se remediaria, tudo correria às maravilhas! E viveríamos felizes.
Em todo o caso, não passo de um miserável. Não, se uma delas tem de morrer, que morra antes a outra. Se Stepanida morresse, seria melhor. Agora compreendo como é possível matar, como se pode envenenar, estrangular as amantes. Pegar num revólver, fazê-la vir aqui e, em lugar de beijos dar-lhe um tiro no peito. Pronto, estava tudo acabado. É horrível. Foi contra minha vontade que ela se apoderou de mim. Matá-la, a ela, ou matar minha mulher. Continuar nesta vida, é impossível, totalmente impossível! É preciso refletir e encarar tudo a sangue-frio. Mas deixar as coisas continuarem como até aqui, daria mau resultado. Juraria ainda muitas vezes não tornar a vê-la, renunciar a ela, mas não passaria das promessas vis, porque no dia seguinte ia esperá-la. Ela sabe-lo-ia e lá estaria eu na mesma alternativa. Ou a minha mulher o saberá, pois não falta quem lhe contasse, ou eu próprio lho direi, porque não posso continuar a viver desta forma. Não posso. Tudo se saberá. Todos o sabem já. Bem! Mas será possível que se possa viver assim? Não, não se pode. Só há duas saídas: matá-la ou matar a minha mulher. Mas existe ainda uma terceira: «Matar-me», murmurou sofrendo e seguidamente um arrepio lhe percorreu o corpo.
- Sim, mato-me! Assim, já não será preciso que qualquer delas morra. É o que devo fazer.
Tremia violentamente, sentindo que era esse o único caminho possível. Tenho em casa um revólver. Terei de acabar desta forma? Eis o que até hoje ainda não tinha pensado... Mas agora...
Entrou em casa, dirigiu-se ao quarto e abriu a gaveta onde se encontrava o revólver mas antes que tivesse tempo de o tirar, Lisa entrou.
Cobriu o revólver com um jornal, apressadamente.
- Então continua na mesma? - perguntou Lisa sobressaltada, fitando-o.
- Que quer dizer com isso?
- Vejo no seu olhar a mesma expressão que tinha outrora, quando nada queria dizer-me... Diga-me meu querido, o que o aflige... Tenho a certeza que está sofrendo. Desabafe comigo, isso alivia. Qualquer que seja a causa dos seus sofrimentos, encontraremos um remédio para eles.
- Acredita nisso?
- Fale, fale, não o deixarei sem que me diga o que tem.
Eugênio esboçou um sorriso doloroso.
- Falar? É impossível. Aliás, nada tenho para dizer.
Podia ser, no entanto, que acabasse por lhe dizer tudo; mas nessa altura entrou a ama e perguntou-lhe se podia vir olhar a menina. Lisa saiu para cuidar da filha.
- Você vai me dizer o que tem, eu volto já.
- Sim, talvez...
Ela nunca pôde esquecer o sorriso magoado com que o marido disse estas palavras. Saiu. Apressadamente, como se fosse praticar um delito, Eugênio pegou no revólver e examinou-o. "Estará carregado? Sim, e desde há muito... Já foi até disparado uma vez... Bem, aconteça o que acontecer..."
Encostou o revólver À têmpora direita, hesitou um momento mas, lembrando-se de Stepanida e da decisão tomada de não a tornar a ver, da luta que nos últimos tempos travara consigo próprio, da tentação, da queda, tremeu horrorizado. "Não, antes isto". E apertou o gatilho...
Quando Lisa acorreu ao quarto, mal tivera tempo de descer a varanda, viu-o deitado de bruços, no chão, e o sangue negro e espesso corria da ferida.
Procedeu-se a investigações, mas ninguém pôde atinar com a causa do suicídio. O tio nem por sombras podia admitir que o acontecimento tivesse qualquer relação com as confidências que dois meses antes Eugênio lhe fizera.
Bárbara Alexievna afirmava que sempre tinha previsto aquele desfecho. "Via-se claramente, quando se punha a discutir".
Nem Lisa nem Maria Pavlovna compreendiam como aquilo sucedera, e nem tampouco se podiam conformar com a opinião dos médicos, que classificaram Eugênio de psicópata, de semi-louco. Não podiam admitir tal hipótese, estavam convencidos de que ele era mais ajuizado do que a maioria dos homens.
Se Eugênio Irtenieff era um anormal, um doente, ter-se-ia de concluir que todos os homens o eram e, ainda mais, que doentes serão todos os que nos outros vêem sintomas de loucura quando não têm um espelho em que possam ver o que lhes vai dentro da alma.
Leão Tolstoi
O prisioneiro do Cáucaso
Um nobre servia no Cáucaso como oficial. Chamava-se Giline.
Um dia, recebeu uma carta com o remetente de sua casa. Sua mãe escrevia-lhe: “Estou velha e desejo antes de morrer, abraçar uma vez mais meu filho querido. Vem dizer-me adeus. Quero que sejas tu a sepultar-me. Depois, com a ajuda de Deus, voltarás ao teu serviço. Encontrei uma boa noiva para ti. É inteligente, bondosa e tem alguns haveres. Talvez ela te agrade, talvez cases com ela, talvez possas ficar por aqui...”
Giline teve um momento de hesitação: de facto, sua velha mãe não teria muito tempo de vida; talvez não voltasse a vê-la. Era necessário partir e, se a noiva lhe agradasse, era bem possível que se realizasse o casamento.
Dirigiu-se então ao coronel, obteve uma licença, disse adeus a seus camaradas, comprou de seus soldados quatro cantis de aguardente com que festejou a despedida, e dispôs-se a partir.
Estava-se então em pé de guerra, no Cáucaso. Ninguém viajava sozinho, nem de dia, nem de noite. Assim que um russo saía e se afastava das fortalezas, os tártaros matavam-no ou levavam-no prisioneiro para as montanhas. Duas vezes por semana os viajantes iam de fortaleza em fortaleza protegidos pelos soldados da escolta.
Era pleno verão. De madrugada, formou-se a caravana fora da fortaleza; os soldados da escolta saíram e iniciaram a marcha. Giline ia a cavalo; uma carroça levando suas bagagens, seguia com a caravana.
Tinham vinte verstas de caminho. A caravana deslocava-se lentamente. Ora se detinham os soldados, ora se soltava uma roda ou parava um cavalo da caravana, parando todos para aguardar o retardatário.
Giline pensou: “Por que motivo não hei de ir só, sem os soldados? O meu cavalo é esplêndido; mesmo que encontre os tártaros, fugirei, galopando.”
Parou a montada. Estava em dúvida do que fazer... Mas eis que para ele se dirige Kostiline, outro oficial, também a cavalo, que lhe diz:
- Vamos embora, Giline. Não aguento mais. Estou com uma fome danada. Estou em brasas. Tenho a camisa ensopada.
- Tens o fuzil carregado?
- Sim.
- Bom, então vamos. Apenas com uma condição: não nos separaremos, aconteça o que acontecer.
E partiram, deixando a caravana para trás. Cavalgaram pela estepe, conversando e vigiando o horizonte. Os olhos perdiam-se ao longe, na imensidão plana.
Finalmente foi interrompida a continuidade da estepe. O caminho seguia entre duas montanhas, através de um desfiladeiro. Giline disse:
- Vou dar uma espiada, lá do alto da montanha.
O seu cavalo era um animal treinado para caçadas. Parecia ter asas, escalando a encosta abrupta. Quando chegou ao alto, Giline desceu e olhou: à frente deles, a cem metros, tártaros a cavalo. Trinta homens.
Quis regressar. Mas os tártaros também o tinham avistado; lançaram-se sobre ele e, saltando de um lado para outro, foram retirando os fuzis dos coldres. Giline fez seu cavalo lançar-se pela encosta, e gritou para Kostiline:
- O teu fuzil! Segura o teu fuzil!
Mas Kostiline, em vez de esperar, deitou-se sobre o cavalo, como é hábito dos soldados das fortalezas. Com o chicote, açoitou-o, fazendo saltar para a esquerda e para a direita.
Giline compreendeu que a situação se tornava perigosa. O fuzil tinha desaparecido com Kostiline; apenas um sabre não poderia enfrentar os inimigos. Dirigiu a montada pelo caminho que levava até os soldados. Essa, a única salvação que poderia esperar.
Viu que seis tártaros se desviavam para lhe cortarem caminho. O seu cavalo era bom, mas os dos outros eram ainda melhores e eles galopavam, firmemente decididos a interceptá-lo. Reduziu a marcha; quis voltar, mas lançado já na carreira, não pôde sofrear o cavalo. Voou directo aos tártaros.
Viu que um deles se aproximava; distinguiu-lhe uma soberba barba vermelha e reparou que montava um cavalo cinzento. Gritava. Seu fuzil ainda estava no coldre.
Giline, apesar de sua pequena estatura, era um homem corajoso. Empunhou o sabre e lançou o cavalo sobre o tártaro vermelho. Pensava: "Ou o derrubo com o cavalo, ou o abato com o sabre". Mas os tártaros que galopavam à sua retaguarda, fizeram fogo, e atingiram o cavalo. O animal tombou e Giline ficou com a perna presa sob a montada.
Quis levantar-se, mas já dois tártaros mergulhavam sobre ele. Deu um salto e desembaraçou-se dos inimigos; mas outros três saltaram dos cavalos e começaram a espancá-lo com a coronha dos fuzis. Os tártaros aprisionaram-no. Tiraram das celas algumas cilhas de reserva, puxaram-lhe os braços para trás das costas, amarraram-nos firmemente e prenderam-no a uma sela. Tomaram-lhe o chapéu de peles e as botas e rasgaram-lhe todo o vestuário.
Giline contemplou o seu cavalo; tal como tinha caído o pobre animal, assim jazia pelo chão, agitava espasmodicamente as patas que não podia firmar no solo; tinha um buraco na cabeça do qual jorrava um tal jacto de sangue negro que, numa superfície de cerca de um metro, a terra estava toda ensopada. Um tártaro aproximou-se do cavalo, tirou-lhe a sela. O animal ainda esperneava. O tártaro empunhou um punhal e cravou-lho no pescoço. As narinas contraíram-se num relincho abafado; um estremecimento e logo depois o animal expirou.
Então, o tártaro de barba vermelha montou sobre o seu cavalo. Os outros escarrancharam Giline na garupa e, para evitar que caísse, amarraram-no à cintura do tártaro com uma correia. Dirigiram-se depois para as montanhas.
Giline nada mais via a sua frente, o sangue coagulara-se sobre os olhos; não podia nem manter-se direito sobre a montada, nem limpar o ferimento; seus braços estavam tão apertados que as clavículas ameaçavam quebrar.
Chegaram ao aoul (aldeia tártara).
Os tártaros apearam-se; surgiram as crianças; cercaram Giline e riram e gracejaram; lançaram-lhe pedras.
Um artesão dispersou os meninos; retirou Giline de cima do cavalo e chamou um companheiro.
Depois, um Nogaí (os tártaros Nogaís habitam as estepes ao norte do Cáucaso) com as maçãs do rosto muito salientes avançou. Vestia uma camisa esfarrapada que lhe deixava o peito totalmente desnudo. O tártaro ordenou-lhe algo. O artesão voltou mais tarde com um cepo para os pés: duas pesadas pranchas de carvalho jungidas com anéis de ferro. Um dos anéis terminava numa argola menor na qual era encaixado um cadeado.
Colocaram o cepo nos seus pés e o arrastaram até a entrada de uma cabana. Empurraram-no para dentro e fecharam a porta. Giline caiu sobre um monte de esterco. Arrastou-se, tacteou na escuridão em busca de um local mais fofo e deitou.
Giline não conseguiu adormecer; viu a luz do dia por uma fenda. Sentia sede. Escutou passos e pouco depois abriram a porta da cabana. O tártaro vermelho entrou, acompanhado por outro, de estatura menor e mais escuro; tinha feições alegres e ria constantemente. O tártaro moreno estava bem vestido: capa curta de seda azul-escuro estava ornada com um galão. Na cintura, um grande punhal de prata e sobre os sapatos de pele finíssima, calçava outros mais resistentes. Usava um enorme chapéu de pele de carneiro branco. Giline levando as mãos à boca, indicou que tinha sede. O moreno compreendeu; começou a rir, olhou pela porta e chamou:
- Diná!
Acorreu uma menina franzina, talvez de uns treze anos e feições semelhantes ao tártaro moreno. Era evidente que era sua filha. Tinha, como ele, uns olhos negros e brilhantes e rosto sempre alegre. Vestia um longo roupão azul, com mangas largas e sem cintura. Nas abas, no peito e mangas, seu roupão estava ornado com fitas vermelhas. Usava calças compridas e uns sapatinhos; e sobre esses sapatinhos, uns outros de salto alto; em volta do pescoço, um colar feito de moedas russas de meio rublo. Tinha a cabeça descoberta; sua cabeleira negra estava presa com uma fita da qual pendiam pequenos adornos de metal e um rublo de prata.
Seu pai lhe deu uma ordem qualquer. Ela se retirou, voltando pouco depois com um cântaro de latão. Deu-lhe de beber, agachando-se; curvara-se de tal forma que seus olhos ficavam mais altos do que os ombros. Abriu os olhos, espantada; observava Giline bebendo, como se ele fosse um animal.
Giline devolveu o cântaro. Ela saltou para trás, como uma cabrita. Seu pai riu. Levou o cântaro, correu, trouxe pão sem levedura numa pequena bandeja circular, sentou-se de novo com a cabeça mais baixa que os joelhos. Não baixava os olhos; fitava sem timidez.
Os tártaros retiraram-se; fecharam a porta. Pouco depois entrou um Nogaí que disse:
- Aída! Senhor Aída!
Mas também ele não falava russo. Giline entendeu apenas que lhe ordenava que o seguisse.
Giline saiu com o cepo; mancava; mal podia caminhar, de tal forma seu pé estava preso. Giline seguiu o Nogaí, viu então que se encontrava numa aldeia tártara com dez casas e a respectiva mesquita com uma torre. À porta de uma das casas, 3 cavalos selados. Um rapazinho segurava-os. O tártaro moreno saiu dessa casa; acenou para que Giline caminhasse até ele.
Giline entrou na casa. A sala era bonita. As paredes estavam cobertas com uma argila uniforme. Reparou nas almofadas pintadas, nos ricos tapetes sobre os quais repousavam os fuzis; reparou nas pistolas e nos sabres. Sobre uma das paredes, um pequeno véu. O chão era terra batida, mas limpo como uma eira; um dos cantos estava todo forrado de feltro; sobre o feltro, tapetes e sobre estes, travesseiros de penas...
Era nesse canto que se tinham sentado os tártaros; o moreno, o vermelho e três visitantes. Recostavam-se nas almofadas de pena. Diante deles sobre uma pequena mesa redonda, bolos de milho, manteiga de vaga e um cântaro com buza (bebida de farinha fermentada). Comiam com os dedos e tinham as mãos empastadas de manteiga.
Conversavam; então um dos visitantes voltou-se para Giline e disse-lhe, em russo:
- Kazi Mahommed aprisionou-te - apontou o tártaro vermelho - e deu-te a Abdoul-Mourat - apontou o moreno - Abdoul Mourat é agora o teu senhor.
Giline conservou-se em silêncio.
Abdoul tomou a palavra. O tradutor disse:
- Ele ordena que escrevas uma carta para tua casa, para que daí enviem um resgate. Quando chegar o dinheiro, ele deixará que partas.
Giline reflectiu e perguntou:
- Ele quer um resgate muito grande?
Os tártaros voltaram a conversar e o tradutor precisou:
- Três mil moedas.
- Não - argumentou Giline - não posso pagar tal soma.
Abdoul levantou-se bruscamente; gesticulou e disse algo a Giline, acreditando que ele o entenderia. O intérprete traduziu:
- Quanto queres dar?
Giline guardou silêncio por um instante, e ofereceu:
- Quinhentos rublos.
Os tártaros voltaram a discutir. E o intérprete transmitiu a resposta:
- Para o teu senhor, é pouco. Ele mesmo pagou por ti duzentos rublos. Kazi Mahommed devia-lhe essa importância. Ele recebeu-te como pagamento da dívida. Não poderás partir por menos de três mil rublos. E se não escreveres, serás lançado a uma fossa e açoitado.
"Olá!" - pensou Giline - "com essa turma, o pior é mostrar medo!" Levantou-se e gritou:
- E tu, diz a esse cachorro que se ele me quer amedrontar, não lhe dou sequer um copeque, não escreverei uma única linha. Nunca tive nem terei medo de vocês, cachorros!
O intérprete traduziu; de novo os tártaros voltaram a falar todos ao mesmo tempo. Discutiram muito; depois o moreno levantou-se bruscamente e aproximou-se de Giline:
- Orusse Dgiguitte - disse - Orusse Dgiguitte (para eles, significa jovem corajoso) E riu. Disse algo ao intérprete, que o aconselhou:
- Dá mil rublos!
Giline repetiu:
- Não darei mais do que quinhentos. E se me matarem, nem os 500 tereis.
Os tártaros voltaram a discutir; mandaram o artesão embora e ficaram olhando ora para Giline, ora para a porta.
O artesão regressou pouco depois; atrás dele caminhava um homem, descalço e esfarrapado, também com um cepo num dos pés.
Giline suspirou. Reconhecera Kostiline. Também ele tinha sido aprisionado. Obrigaram-nos a sentar-se um ao lado do outro. Kostiline contou que seu cavalo tinha sido abatido, que seu fuzil falhara e que o próprio Obdoul o alcançara e aprisionara.
Obdoul levantou-se bruscamente; apontou Kostiline e disse algo. O intérprete explicou que ambos tinham agora o mesmo senhor e que aquele que fosse o primeiro a entregar o dinheiro seria o primeiro a ser libertado. E argumentou com Giline:
- Tu, tu estás sempre zangado; o teu companheiro é um homem mais razoável; já escreveu uma carta para os seus; pede cinco mil peças. Será bem alimentado e bem tratado.
- Meu companheiro - respondeu Giline - procede como quer; talvez seja rico, mas eu não sou. É como eu disse. Matem-me se quiserem, mas nada ganham com isso. Escreverei apenas para quinhentos rublos.
Os tártaros nada responderam.
De repente, Abdoul levantou-se, irritado, abriu um cofre, pegou uma caneta, um pedaço de papel e tinta; aproximou-se de Giline, deu-lhe um safanão e disse:
- Escreve!
Giline concordou.
- Espera - disse Giline ao intérprete - fala-lhe que é preciso que nos alimente bem, que nos vista e calce e que nos deixe partir juntos - será mais divertido para nós - e que nos tire os cepos.
Olhou para o tártaro seu senhor, e riu. O tártaro riu também e concordou com tudo, excepto no que dizia respeito aos cepos.
- Não é possível tirá-los, eles fugiriam. Apenas de noite o farei.
Giline redigiu uma carta, mas nela escreveu um falso endereço. Raciocinava: "tratarei de fugir, e assim não obrigarei minha mãe a um sacrifício tão pesado."
Foi assim que ele viveu com seu companheiro um mês inteiro. Depois, resolveu evadir-se e comunicou sua intenção a Kostiline.
Este reflectiu demoradamente e decidiu-se:
- Pois bem, vamos!
Giline abriu na parede um buraco suficientemente largo para passarem; depois, aguardaram que o silêncio os envolvesse. Evadiram-se, e depois de fazerem o sinal da cruz, puseram-se a caminho, pensando não terem levantado qualquer suspeita.
O nevoeiro era frio. Giline calçou as botas. Kostiline, com os pés ensanguentados, caminhava gemendo; vinte vezes pediu ao companheiro que o abandonasse, mas este acabou por transportá-lo sobre os ombros, parando somente junto a uma pequena fonte que brotava de uma rocha. Giline depôs Kostiline no chão e disse-lhe:
- Bebe e permite que descanse um pouco.
Acaba de se deitar quando escutou passos. Com seu companheiro, correu para a direita, ocultando-se num matagal, sobre uma escarpa.
Distinguiram vozes de tártaros; estes, tinham parado no local onde ambos tinham abandonado o caminho. Falaram demoradamente; depois, incitaram os cães. Giline e Kostiline ouviram algo se quebrando no valado. Um cão avançava sobre eles, farejando. De súbito, deteve-se e uivou.
Logo surgiram os tártaros; aprisionaram-nos, garrotaram-nos, colocaram sobre os cavalos e partiram.
A sua existência tornou-se horrível. Jamais lhes retiraram os cepos, jamais os deixaram sair. Do alto da fossa, lançavam-lhes, como cães, bolos de farinha crua, e a água era descida num cântaro. A fossa era pestilenta, quente e húmida.
Uma vez, Giline, agachado na fossa, sonhava com a vida livre e estava triste. De repente, a frente de seus joelhos, tombou um bolo frito, e logo um outro, e depois cerejas. Olhou para cima e viu Diná.
Ela sorriu e fugiu.
E Giline pensou: “Talvez Diná possa ajudar-me.”
Arrancou do chão da fossa um pedaço de argila e entreteve-se a modelar alguns bonecos. Homenzinhos, cavalos e cães; pensava: "Quando vier Diná, dou-lhe estes brinquedos".
Porém, no dia seguinte, Diná não apareceu. E Giline escutou os homens correrem e o tropel dos cavalos. Os tártaros reuniram-se na mesquita; discutiram, gritaram e falaram dos russos. Não compreendeu tudo o que ouviu, mas pressentiu que os russos aproximavam-se e que os tártaros receavam que chegassem à aldeia e vissem o que tinham feito com os prisioneiros.
Conferenciaram e retiraram-se. De repente, escutou um ruído lá em cima. Olhou. Diná estava agachada, os joelhos mais altos que a cabeça. Debruçada, seus colares balançavam dentro da fossa. Os olhos brilhavam como estrelas. Tirou da manga dois bolinhos fritos e atirou-os a Giline.
Giline pegou-os e disse:
- Há quanto tempo não te via! Olha, arrumei-te uns brinquedos. Pega, vai.
E atirou um.
Ela abanou a cabeça:
- Não era preciso - disse.
Calou-se, ficou sentada por alguns instantes e falou:
- Ivan, eles querem matar-te.
E com a mão mostrava o próprio pescoço.
- Quem quer me matar?
- Meu pai; os velhos assim mandaram. Mas eu tenho piedade de ti.
Giline disse então:
- Se tens piedade de mim, então traz-me uma vara comprida.
Ela abanou a cabeça para dizer que era impossível e desapareceu.
À noite, sentiu que lhe jogavam terra sobre a cabeça. Olhou para cima. Uma longa vara estava apoiada na borda da fossa. Empinada, começou a descer; por fim, rolou para dentro da fossa.
Voltou a olhar para cima; as estrelas resplandeciam longe, no céu; e no alto da fossa, os olhos de Diná brilhavam na obscuridade como os de um gato. Debruçou-se sobre a fossa e murmurou:
- Ivan! Ivan!
E, com as mãos sobre o rosto, fazia sinal para que evitasse fazer barulho. Giline despertou o companheiro:
- Ei, Kostiline, vamos! Tentemos uma última vez, te ajudarei.
Kostiline não o quis ouvir.
- Não - respondeu - nem sequer posso sair daqui. Onde iria eu, quando nem forças tenho para arrastar-me?
- Bem, então, adeus! Não me guardes rancor!
Beijaram-se.
Firmou-se na vara, pediu que Diná a segurasse, e iniciou a escalada. Duas vezes caiu. O cepo prejudicava-o. Kostiline susteve-o e, bem ou mal, chegou ao alto. Com suas pequenas mãos, Diná puxava-o pela camisa; ela ria.
Giline retirou a vara e disse:
- Põe-na no lugar, Diná, se a vêem aqui, vão te castigar.
Ela arrastou a vara e Giline desceu a montanha. Para poder caminhar livremente, tomou uma pesada pedra e tentou quebrar as cadeias do cepo. Não conseguiu, e as pequenas mãos da fiel Diná que entretanto o alcançara, também nada puderam fazer. Giline, convencido que era imperioso alcançar o desfiladeiro antes que surgisse a lua, deixou fora a pedra e resolveu caminhar, apesar do cepo.
- Adeus, pequena Diná! - disse ele - lembrarei de ti eternamente.
Diná começou a chorar. Abraçou-o desesperadamente e correu pela montanha, saltando como uma cabritinha. No meio da noite, escutava-se apenas a fita de moedas que prendia seus cabelos, tilintando de encontro às suas costas.
Giline fez o sinal da cruz, segurou o cadeado do cepo, a fim de evitar qualquer barulho e iniciou a caminhada. Arrastava a perna, olhando constantemente para o lado avermelhado do céu de onde deveria surgir a lua.
Já conhecia o caminho. Caminhou sem hesitações durante oito verstas. Porém, conseguiria alcançar a floresta antes que a lua aparecesse?
Atravessou o ribeiro; quando brilhou a luz, acabava ele de entrar na floresta.
Novamente tentou abrir o cepo. Feriu as mãos, mas não o conseguiu abrir. Levantou-se e continuou a caminhar. Percorreu uma versta; suas forças estavam esgotadas; mal se sustinha em pé. Andava dez passos e parava.
Caminhou durante toda a noite; encontrou apenas dois tártaros a cavalo; porém, ouviu-os de longe e ocultou-se atrás de uma moita.
Já então a lua começava a empalidecer; caía o orvalho; o dia estava próximo e Giline não chegara ao fim da floresta.
- Pois bem! - disse - ando mais trinta passos, escondo-me na floresta e sento-me!
Caminhou os trinta passos e viu que a floresta terminava um pouco mais à frente. Ao alcançar a orla da floresta, já era dia. À sua frente, a estepe e a fortaleza; à esquerda, bem próximo, no sopé da montanha, ardiam ou extinguiam-se fogos, a fumaça subindo, homens rodeando as fogueiras.
Olhou fixamente e viu os fuzis que brilhavam: eram os cossacos e os soldados.
Giline sentiu-se invadido pela alegria; reuniu as últimas forças e iniciou a descida da montanha. Mas dizia: "Deus me guarde que um tártaro me veja: não conseguirei passar".
Mal lhe aflorara este pensamento quando olhou à esquerda. Sobre uma colina, três tártaros ocupando duas deciatinas (medida de superfície russa). Viram-no e galoparam em sua direcção.
Sentiu que desfalecia. Agitou os braços e gritou o que lhe veio ao espírito:
- Irmãos, socorro, irmãos!
Os russos escutaram-no e montaram. Correram em sua direcção, tentando cortar caminho aos tártaros.
Os cossacos estavam longe e os tártaros bem perto. Mas Giline apelara já para as derradeiras forças; segurou o cepo com as mãos e correu em direcção aos cossacos; fazia sinais da cruz e gritava:
- Irmãos! Irmãos! Irmãos!
Os soldados cercaram-no. Um deles ofereceu-lhe pão, um outro cerveja, outro vodka, outro cobriu-o com uma capa e outro ainda libertou-o do cepo.
Os oficiais reconheceram-no e conduziram-no para a fortaleza. Aí Giline contou toda a sua aventura, e disse:
- E aqui está como eu fui a casa e me casei! Certamente não era esse o meu destino.
E continuou servindo no Cáucaso. Kostiline foi resgatado apenas um mês mais tarde, por cinco mil rublos. Estava mais morto do que vivo...
Leão Tolstoi
A terra de que um homem precisa
Uma mulher veio visitar sua irmã mais nova que vivia no campo; a primeira estava casada com um mercador da cidade, a outra com um camponês da aldeia; quando estavam a tomar o chá, começou a mais velha a gabar a vida da cidade, dizendo que se vivia por lá com todo o conforto, que toda a gente andava bem arranjada, que as filhas tinham vestidos lindíssimos, que se bebiam e comiam coisas magníficas e que se ia ao teatro, a passeios e a festas. A irmã mais nova, um pouco despeitada, mostrou todos os inconvenientes da vida do comércio e exaltou as vantagens da existência dos camponeses.
- Não trocaria a minha vida pela vossa; é certo que vivemos com alguma rudeza, mas, pelo menos, não estamos sempre ansiosos; vocês vivem com mais conforto e mais elegância, mas ganham muitas vezes mais do que precisam e estão sempre em riscos de perder tudo; lá diz o ditado: "Estão juntos na merca o ganho e a perca"; quem está rico num dia pode, no dia seguinte, andar a pedir pão pelas portas; a nossa vida é mais segura; se não é farta é, pelo menos, comprida; nunca seremos ricos, mas sempre teremos bastante que comer.
A irmã mais velha replicou com zombaria:
- Bastante? Sim, bastante, se vocês se contentarem com a vida dos porcos e das vitelas. Que sabem vocês de elegância e de boas maneiras? Por mais que o teu marido trabalhe como um escravo, vocês hão-de morrer como têm vivido - num monte de estrume; e os vossos filhos na mesma.
- Bem, e depois? - retorquiu-lhe a outra. - Não nego que o nosso trabalho seja rude e grosseiro; mas em compensação é seguro e não precisamos de nos curvar diante de ninguém; vocês, na cidade, vivem rodeados de tentações; hoje tudo corre bem, mas amanhã o Diabo pode tentar o teu marido com a bebida, o jogo ou as mulheres - e lá se vai tudo. Bem sabes que é o que sucede muitas vezes.
Pahóm, o dono da casa, estava deitado à lareira e escutava a conversa das mulheres.
- "É realmente assim." - pensava ele - Os lavradores ocupados desde meninos no amanho da terra não têm tempo para pensar em tolices; só o que nos consome é não termos terra bastante; se tivesse toda a terra que quero, nem o Diabo seria capaz de meter-me medo."
As mulheres acabaram o chá, palraram ainda um bocado de vestidos, depois arrumaram a louça e deitaram-se a dormir. Mas o Diabo tinha estado sentado num desvão da lareira e tinha ouvido tudo o que se dissera; ficara contentíssimo quando vira que a mulher do camponês arrastara o marido para a gabarolice e quando percebera que o homem pensava que, se tivesse terra à vontade, não temeria o Diabo.
- "Muito bem! - pensou o Diabo. Vamos lutar um com o outro; dou-te toda a terra que quiseres e há-de ser por essa terra que te hei-de apanhar."
Perto da aldeia vivia uma senhora, pequena proprietária, que possuía um terreno de cerca de cento e vinte hectares. Tinha mantido sempre com os camponeses excelentes relações, até o dia em que tomou como feitor um antigo soldado que se pôs a multar toda a gente. Por mais cuidado que Pahóm tivesse, ora um cavalo lhe fugia para os campos de aveia da senhora, ora uma vaca ia para os jardins, ora as vitelas andavam pelos prados; e a multa lá vinha.
Pahóm pagava, resmungava e, irritado, tratava mal a família; todo o Verão, o camponês teve conflitos com o feitor e só o alegrou a chegada do Inverno em que o gado tinha de ir para o estábulo; dava-lhe a ração de má vontade, mas ao menos estava livre de sustos. Durante o Inverno, correu que a senhora ia vender as terras e que o estalajadeiro se preparava para lhas comprar; toda a aldeia ficou alarmada.
- Bem - pensavam os camponeses - se o estalajadeiro comprar as terras, as multas serão mais fortes ainda; o caso é sério.
Foram então, em nome da Comuna, pedir à senhora que não vendesse as terras ao estalajadeiro, porque estavam dispostos a pagar-lhe melhor; a senhora concordou e os camponeses reuniram-se para que o campo fosse comprado por todos e cultivado por todos; houve duas assembleias, mas o Diabo semeava a discórdia e não chegaram a nenhuma combinação; cada um compraria a terra que pudesse; a senhora acedeu de novo.
Pahóm ouviu dizer que um seu vizinho ia comprar vinte hectares e que a proprietária receberia metade em dinheiro e esperaria um ano pela outra metade; sentiu inveja e pensou:
- "Ora vejam isto; vão comprar toda a terra e eu não apanho nenhuma." Falou depois à mulher:
- Toda a gente está a comprar terras; vamos nós comprar também uns dez hectares; a vida assim é impossível; o feitor mata-nos com multas.
A mulher concordou e consideraram sobre a maneira de realizar o seu desejo; tinham uns cem rublos de parte; venderam um potro e metade das abelhas, meteram um filho a jornaleiro, recebendo a soldada adiantada, e pediram emprestado a um cunhado o que faltava para perfazer metade da quantia necessária.
Feito isto, escolheu Pahóm um campo de uns quinze hectares, com um pouco de bosque, e foi ter com a senhora para tratarem do negócio; chegaram a acordo e o camponês pagou adiantada uma certa quantia; depois foram à cidade e assinaram a escritura em que ficava estabelecido pagar ele logo metade da quantia e entregar o resto dentro de dois anos.
Agora tinha Pahóm terra sua; pediu sementes emprestadas, semeou-as na terra que comprara; como a colheita foi boa, pôde, dentro de um ano, pagar ao cunhado e à senhora; tornou-se assim proprietário, lavrando e semeando a sua terra, fazendo feno na sua terra, abatendo as suas árvores, alimentando o seu gado nos seus pastos. Sentia-se cheio de contentamento quando ia lavrar ou olhava para os trigais ou para os prados; a erva que ali crescia e as flores que ali desabrochavam pareciam-lhe diferentes de todas as outras; a princípio parecera-lhe que a sua terra era igual a qualquer outra; agora, porém, via-a totalmente diversa.
O contentamento de Pahóm teria sido completo se os vizinhos não lhe atravessassem as searas e os prados; falou-lhes muito delicadamente, mas os homens continuaram; umas vezes eram os pastores da comuna que deixavam ir as vacas para as suas pastagens, outras vezes os cavalos que se soltavam à noite e lhe iam para as searas. Pahóm enxotava-os, perdoava aos donos e, durante muito tempo, não fez queixa de ninguém; por fim, perdeu a paciência e queixou-se ao tribunal; bem sabia que era a falta de terra dos camponeses e não qualquer má intenção que os fazia proceder daquele modo, mas pensava: "Se não tomo cuidado, dão-me cabo de tudo; tenho que lhes dar uma lição."
Foi o que fez: deu-lhes uma lição, depois segunda, e dois ou três camponeses foram multados; ao fim de certo tempo, os vizinhos tinham-lhe raiva e era de propósito que lhe metiam o gado pelas terras; houve mesmo um que, uma noite, lhe cortou cinco limoeiros para lhes tirar a casca; Pahóm passou pelo bosque e viu umas coisas brancas: aproximou-se e deu com os troncos sem casca estendidos no chão; quase ao lado estavam os cepos; Pahóm, furioso, pensou: "Já bastaria para mal que este patife tivesse cortado uma árvore aqui e além; mas foi logo uma fila inteira; ah! se o apanho!..."
Pôs-se a ver quem poderia ter sido; finalmente, disse consigo: "Deve ter sido o Simão; ninguém mais ia fazer uma coisa destas." Deu uma volta pelas propriedades de Simão, mas nada viu e só arranjou a zangar-se com o vizinho; tinha, no entanto, a certeza que era ele e apresentou queixa; Simão foi chamado, julgado e absolvido porque não havia provas; Pahóm ficou ainda mais furioso e voltou-se contra os juízes:
- A gatunagem unta-vos as mãos; se aqui houvesse vergonha, não iam os ladrões em paz.
As zangas com os juízes e com os vizinhos trouxeram como resultado ameaças de lhe queimarem a casa; Pahóm tinha mais terra do que dantes, mas vivia muito pior. E foi por esta altura que se levantou o rumor de que muita gente ia sair da terra. "Por mim, não tenho que me mexer - pensou Pahóm - Mas se os outros se fossem embora, haveria mais terra para nós; havia de comprá-la e de arredondar a minha propriedadezinha; então é que era viver à farta; assim, ainda estou muito apertado."
Estava um dia Pahóm sentado em casa quando calhou de entrar um camponês que ia de viagem; deu-lhe licença para passar ali a noite e, à ceia, puseram-se de conversa; Pahóm perguntou-lhe donde vinha e o forasteiro respondeu que de além-Volga, onde tinha estado a trabalhar; depois disse o homem que havia muita gente que se estava a fixar por aqueles lados, mesmo lavradores da sua aldeia; tinham entrado na comuna e obtinham setenta e cinco hectares; a terra era tão boa que o centeio crescia à altura de um cavalo e era tão basto que com meia dúzia de foiçadas se fazia um feixe; havia um camponês que tinha chegado de mãos a abanar e possuía agora seis cavalos e duas vacas.
O peito de Pahóm inflamava-se de cobiça: "Para que hei-de eu continuar neste buraco se noutra parte se pode viver tão bem? Vou vender tudo e, com o dinheiro, vou começar a vida de novo; aqui há muita gente e sempre sarilhos; mas, primeiro, vou eu mesmo saber as coisas ao certo."
Pelos princípios do Verão, preparou-se e partiu; desceu o Volga de vapor até Samara, depois andou a pé noventa léguas; por fim chegou; era exactamente o que o forasteiro tinha dito; os camponeses tinham imensa terra: cada homem possuía os setenta e cinco hectares que a comuna lhe dera e, se tivesse dinheiro, podia comprar as terras que quisesse, a três rublos o hectare. Informado de tudo o que queria saber, voltou Pahóm a casa no Outono e começou a vender o que lhe pertencia; vendeu a terra com lucro, vendeu a casa e o gado, saiu da comuna; esperou pela Primavera e largou com a família para os novos campos.
Logo que chegaram à nova residência, pediu Pahóm que o admitissem na comuna de uma grande aldeia; tratou com os dirigentes e deram-lhe os documentos necessários; depois, concederam-lhe cinco talhões de terra para ele e para o filho, isto é, trezentos e setenta e cinco hectares em campos diferentes, além do direito aos pastos comuns. Pahóm construiu as casas precisas e comprou gado; só de terra da comuna tinha ele três vezes mais do que dantes e toda ela era excelente para trigo; estava incomparavelmente melhor, com terra de cultivo e de pastagem, e podia ter as cabeças de gado que quisesse.
A princípio, enquanto durou o trabalho de se estabelecer, tudo satisfazia Pahóm, mas, quando se habituou, começou a pensar que ainda não tinha bastante terra; no primeiro ano, semeou trigo na terra da comuna e obteve boa colheita; queria continuar a semear trigo, mas a terra não chegava e a que já tinha não servia porque, naquela região, era costume semear o trigo em terra virgem, durante um ou dois anos, depois deixar o campo de pousio, até se cobrir de novo de ervas de prado. Havia muitos que desejavam estas terras e não havia bastantes para todos, o que provocava conflitos; os mais ricos queriam-nas para semear trigo e os que eram pobres para as alugar a negociantes, de modo a terem dinheiro para pagar os impostos. Pahóm queria semear mais trigo e tomou uma terra de renda por um ano; semeou muito, teve boa colheita, mas a terra era longe da aldeia e o trigo tinha de ir de carro umas três léguas. Certo tempo depois, notou Pahóm que alguns camponeses viviam em herdades não comunais e enriqueciam; pensou consigo: "Se eu pudesse comprar terra livre e arranjar casa, então é que as coisas me haviam de correr bem."
A questão de comprar terra livre preocupava-o sempre; mas continuou durante três anos a arrendar campos e a cultivar trigo; os anos foram bons, as colheitas excelentes, começou a pôr dinheiro de lado. Podia ter continuado a viver assim, mas sentia-se cansado de ter que arrendar terras de outros todos os anos e ainda por cima disputando-as; mal aparecia uma terra boa todos os camponeses se precipitavam para a tomarem, de modo que, ou se andava ligeiro, ou se ficava sem nada. Ao terceiro ano, aconteceu que ele e um negociante arrendaram juntos a uns camponeses uma pastagem: já a tinham amanhado quando se levantou qualquer disputa, os camponeses foram para o tribunal e todo o trabalho se perdeu. "Se fosse terra minha - pensou Pahóm - já eu era independente e não me via metido nestas maçadas."
E começou a procurar terra de compra; encontrou um camponês que tinha adquirido uns quinhentos hectares mas que, por causa de dificuldades, os queria vender barato; Pahóm regateou com o homem e assentaram por fim num preço de mil e quinhentos rublos, metade a pronto, a outra metade a pagar depois. Tinham arrumado o negócio, quando se deteve em casa de Pahóm um comerciante que queria forragem para os cavalos; tomou chá com Pahóm e travou-se conversa; o comerciante disse que voltava da terra dos Baquires, que era muito longe, e onde tinha comprado cinco mil hectares de terra por mil rublos. Pahóm fez-lhe mais perguntas e o negociante respondeu:
- Basta fazer-nos amigos dos chefes. Dei-lhes coisa de cem rublos de vestidos de seda e de tapetes, além duma caixa de chá, e mandei distribuir vinho por quem o quisesse; e arranjei a terra a cinco kopeks o hectare.
E, mostrando a Pahóm as escrituras, acrescentou:
- A terra é perto dum rio e toda ela virgem.
Pahóm continuou a interrogá-lo e o homem respondeu:
- Há por lá mais terra do que aquela que se poderia percorrer num ano de marcha; e toda ela pertence aos Baquires. São como cordeirinhos e arranja-se a terra que se quer, quase de graça.
- "Bem - pensou Pahóm - para que hei-de eu, com os meus mil rublos, arranjar só os quinhentos hectares e aguentar ainda por cima com uma dívida? Na outra terra compro eu dez vezes mais, e pelo mesmo dinheiro."
Perguntou Pahóm de que maneira havia de ir lá ter e, logo que o negociante o deixou, preparou-se para empreender a viagem; ficou a mulher a tomar conta da casa e ele partiu com o criado; pararam numa cidade e compraram uma caixa de chá, vinho e outros presentes, conforme o conselho do negociante. Foram andando sempre até que, já percorridas mais de noventa léguas, chegaram ao lugar em que os Baquires tinham levantado as suas tendas; era exactamente como o homem tinha dito: viviam nas estepes, junto dum rio, em tendas de feltro; não lavravam a terra, nem comiam pão: o gado e os cavalos andavam em rebanhos pelos pastos da estepe; os potros estavam peados atrás das tendas e duas vezes por dia lhes levavam as éguas; ordenhavam-nas e do leite faziam kumiss; eram as mulheres quem preparavam o kumiss e faziam queijo; quanto aos homens, passavam o seu tempo a beber kumiss e chá, a comer carneiro e a tocar gaitas-de-foles; eram gordanchudos e prazenteiros, e, durante todo o Verão, nem pensavam em trabalhar; eram ignorantes de todo, não sabiam falar russo, mas eram de boa qualidade.
Mal viram Pahóm, saíram das tendas e juntaram-se à volta do visitante; apareceu um intérprete e Pahóm disse-lhes que tinha vindo à procura de terra; os Baquires, segundo parecia, ficaram muito contentes; levaram Pahóm para uma das melhores tendas onde o fizeram sentar numas almofadas de pernas postas num tapete, sentando-se eles também à volta; deram-lhe chá e kumiss, mataram um carneiro para a refeição; Pahóm tirou os presentes do carro, distribuiu-os pelos Baquires e dividiu também o chá; os Baquires ficaram encantados; conversaram muito uns com os outros e depois disseram ao intérprete que traduzisse:
- O que eles estão a dizer é que gostaram de ti e que é nosso costume fazermos tudo o que podemos para agradar aos hóspedes e lhes pagar os presentes; tu deste presentes: tens que dizer agora que te agrada mais de tudo o que possuímos, para que to entreguemos.
- O que me agrada mais - respondeu Pahóm - é a vossa terra. A nossa está cheia de gente e os campos já não dão; vocês têm muita e boa; nunca vi coisa assim.
O intérprete traduziu. Os Baquires falaram um bocado, sem que Pahóm compreendesse o que diziam; mas percebeu que estavam muito divertidos e viu que gritavam e se riam; depois calaram-se e olharam para Pahóm, enquanto o intérprete dizia:
- O que eles me mandam dizer é que, em troca dos teus presentes, te darão a terra que quiseres; é só apontá-la a dedo.
Os Baquires puseram-se outra vez a falar e discutiram; Pahóm perguntou o motivo da discussão e o intérprete respondeu que uns eram de opinião que não deviam resolver nada na ausência do chefe e outros que não havia necessidade de esperarem que voltasse.
Enquanto os Baquires discutiam, entrou um homem com um barrete de pele de raposa; todos se levantaram em silêncio e o intérprete disse:
- É o chefe!
Pahóm foi logo buscar o melhor vestuário e cinco libras de chá e ofereceu tudo ao chefe; o chefe aceitou, sentou-se no lugar de honra e os Baquires começaram a contar-lhe qualquer coisa; o chefe escutou, depois fez um sinal com a cabeça para que se calassem e, dirigindo-se a Pahóm, disse-lhe em russo:
- Está bem. Escolhe a terra que queres; há bastante por aí.
- "A que eu quiser? - pensou Pahóm - Como é isso possível? Tenho que fazer uma escritura para que não voltem com a palavra atrás." Depois disse alto:
- Muito obrigado pelas suas boas palavras: os senhores têm muita terra, e eu só quero uma parte; mas que seja bem minha; podiam talvez medi-la e entregá-la. Há morrer e viver... Os senhores, que são bons, dão-ma, mas os vossos filhos poderiam querer tirar-ma.
- Tens razão - disse o chefe - ; vamos doar-te a terra.
- Soube que esteve cá um negociante - continuou Pahóm - e que os senhores lhe deram umas terras, com uns papéis assinados... Era assim que eu gostava.
O chefe compreendeu:
- Bem, isso é fácil; temos aí um escrivão e podemos ir à cidade para ficar tudo em ordem.
- E o preço? - perguntou Pahóm.
- O nosso preço é sempre o mesmo: mil rublos por dia.
- Por dia? Que medida é essa? Quantos hectares?
- Não sabemos; vendemos terra a dia; fica a pertencer-te toda a terra a que puderes dar volta, a pé, num dia; e são mil rublos por dia.
Pahóm ficou surpreendido.
- Mas num dia pode-se andar muito!...
O chefe riu-se:
- Pois será toda tua! Com uma condição: se não voltares no mesmo dia ao ponto donde partiste, perdes o dinheiro.
- Mas como hei-de eu marcar o caminho?
- Vamos ao lugar que te agradar e ali ficamos. Tu começas a andar com uma pá; onde achares necessário fazes um sinal; a cada volta cavas um buraco e empilhas os torrões; depois nós vamos com um arado de buraco a buraco. Podes dar a volta que quiseres, mas antes do sol-posto tens que voltar; toda a terra que rodeares será tua.
Pahóm ficou contentíssimo e decidiu-se partir na manhã seguinte; falaram ainda um bocado, depois beberam mais kumiss, comeram mais carneiro, tomaram mais chá; em seguida, caiu a noite; deram a Pahóm uma cama de penas e os Baquires dispersaram-se, depois de terem combinado reunir-se ao romper da madrugada e cavalgar antes que o Sol nascesse.
Pahóm estava deitado, mas não podia dormir, a pensar na terra.
"Que bom bocado vou marcar! - pensava ele. - Faço bem dez léguas por dia; os dias são compridos e, dentro de dez léguas, quanta terra! Vendo a pior ou arrendo-a a camponeses e faço uma herdade na melhor; compro duas juntas e arranjo dois jornaleiros; ponho aí sessenta hectares a campo, o resto a pastagens.
Ficou acordado toda a noite e só dormitou pela madrugada; mal fechava os olhos, teve um sonho; sonhou que estava deitado na tenda e que ouvia fora uma espécie de cacarejo; pôs-se a pensar o que seria e resolveu sair: viu então o chefe dos Baquires a rir-se como um doido, de mãos na barriga; Pahóm aproximou-se e perguntou: "De que está rindo?" Mas viu que já não era o chefe: era o negociante que tinha ido a sua casa e lhe falara da terra. Ia Pahóm a perguntar-lhe: "Está aqui há muito tempo?" quando viu que já não era o negociante: era o camponês que regressava do Volga; nem era o camponês, era o próprio Diabo, com cascos e cornos, sentado, a cacarejar: diante dele estava um homem descalço, deitado no chão, só com umas calças e uma camisa; e Pahóm sonhou que olhava mais atentamente, para ver que homem era aquele ali deitado e via que estava morto e que era ele próprio; acordou cheio de horror. "Que coisas a gente vai sonhar" - pensou ele.
Olhou em volta e viu, pela abertura da tenda, que a manhã rompia. "É tempo de os ir acordar; já devíamos estar de abalada". Levantou-se, acordou o criado, que estava a dormir no carro, e mandou-o aparelhar; depois foi chamar os Baquires:
- Vamos para a estepe medir a terra.
Os Baquires levantaram-se, juntaram-se e o chefe apareceu também; depois, beberam kumiss e ofereceram chá a Pahóm, mas ele não quis esperar mais:
- Se querem ir, vamos; já é tempo.
Os Baquires aprontaram-se e partiram; uns iam a cavalo, outros de carro; Pahóm ia no seu carrinho, com o criado e uma pá; quando chegaram à estepe, já se via no céu o rosado da aurora; subiram a um cabeço, a que os Baquires chamavam shikhan, e, apeando-se dos carros e dos cavalos, juntaram-se num lugar. O chefe veio ter com Pahóm e, estendendo o braço para a planície:
- Olha para isto - disse ele - tudo o que vês é nosso; poderás ficar com o que quiseres.
Os olhos de Pahóm rebrilharam: era tudo terra virgem, plana como a palma da mão, negra como semente de papoila; e as diferentes espécies de erva cresciam à altura do peito.
O chefe tirou o barrete de pele de raposa, colocou-o no chão e disse:
- O sinal é este; partes daqui e voltas aqui; é tua, toda a terra a que deres a volta.
Pahóm puxou do dinheiro e pô-lo no barrete; depois tirou o casaco e ficou em colete; desapertou o cinto e ajustou-o logo por baixo do estômago, pôs um saquinho de pão ao peito, atou um cantil de água ao cinto, puxou os canos das botas, pediu a pá ao criado e ficou pronto a largar; considerou por alguns momentos sobre o caminho que havia de tomar, mas era uma tentação por toda a parte.
- Não faz mal - concluiu - vou para o nascente.
Voltou-se para leste, espreguiçou-se e esperou que o Sol aparecesse acima do horizonte.
- Não há tempo a perder - disse ele - e é melhor ir já pela fresquinha.
Mal apareceu o primeiro raio de sol, desceu Pahóm a colina, de pá ao ombro; nem ia devagar, nem depressa; ao fim de um quilómetro, parou, fez um buraco e pôs os torrões uns sobre os outros; depois continuou e, como ia aquecendo, apressou o passo; ao fim de um certo tempo, fez outra cova. Pahóm olhou para trás: a colina estava distintamente iluminada pelo Sol e viam-se os Baquires e os aros cintilantes das rodas; Pahóm calculou que teria andado uma légua; como o calor apertava, tirou o colete, pô-lo ao ombro e continuou a caminhar; estava quente a valer: olhou para o Sol e viu que eram horas de pensar no almoço.
- A primeira tirada está feita; mas posso ainda fazer mais três, porque é cedo para voltar; o que tenho é de tirar as botas.
Sentou-se, descalçou as botas, pendurou-as ao cinto e continuou; agora, andava à vontade. "Mais uma leguazita - pensou ele - depois volto para a esquerda; este bocado é tão bom que era uma pena perdê-lo; quanto mais se anda, melhor a terra parece." Avançou a direito durante algum tempo e, quando olhou à volta, viu que a colina mal se enxergava e que os Baquires pareciam formiguinhas; e havia qualquer coisa que brilhava.
- Já andei bastante para este lado - pensou Pahóm - é tempo de voltar; e já estou a suar e com sede.
Parou, cavou um grande buraco e amontoou os torrões; depois, desatou o cantil, sorveu um gole e voltou à esquerda; foi andando, andando sempre; a erva era alta, o sol quentíssimo. Começou a sentir-se cansado: olhou para o Sol e viu que era meio-dia.
- Bem, vou descansar um bocado.
Sentou-se, comeu um naco de pão, bebeu uma pinga de água; mas não se deitou, com medo de adormecer; depois de estar sentado uns momentos, levantou-se e continuou. A princípio, andava bem: a comida tinha-lhe dado forças; mas o calor aumentava, sentia sono; apesar de tudo, continuava, e repetia consigo:
- Um dia de dor, uma vida de amor.
Andou muito tempo na mesma direcção e estava para rodar à esquerda, quando viu um lugar húmido: "Era uma pena deixar isto; o linho deve dar-se bem aqui." Deu uma volta, cavou um buraco e olhou para a colina; com o calor, o ar tremia e a colina tremia também, mal se vendo os Baquires.
Os outros lados ficaram muito grandes; tenho que fazer este mais curto." E pôs-se a andar mais depressa. Olhou para o Sol: estava quase a meio caminho do horizonte e não tinha ainda andado três quilómetros do lado novo; e ainda lhe faltavam três léguas para a colina.
- "Bem - pensou ele - não me fica a terra quadrada, mas agora tenho que ir a direito; podia ir longe de mais e assim já tenho terra bastante." Abriu um buraco a toda a pressa e partiu em direcção à colina.
Ia sempre a direito, mas caminhava com dificuldade. Estava tonto de calor, tinha os pés cortados e moídos e as pernas a fraquejarem; estava ansioso por descansar, mas era impossível fazê-lo se queria chegar antes do sol-posto; o Sol não espera por ninguém e cada vez ia mais baixo.
- Justos céus! Oxalá não tenha querido de mais! E se chego tarde?
Olhou para a colina e para o Sol; Pahóm estava ainda longe do seu objectivo e o Sol perto do horizonte. Continuou a andar; era custoso a valer, mas cada vez andava mais depressa; estugou o passo, mas estava longe ainda; começou a correr, atirou fora o casaco, as botas, o cantil e o barrete e ficou só com a pá, a que se apoiava, de quando em quando.
- Santo Deus! Abarquei de mais e perdi tudo; já não chego antes de o Sol se pôr.
O medo cortava-lhe a respiração; Pahóm continuava a correr, mas a transpiração colava-lhe ao corpo as calças e a camisa; tinha a boca seca e o peito arquejava como um fole de ferreiro; o coração batia que nem um martelo e as pernas quase nem pareciam dele; Pahóm sentia-se aterrorizado à ideia de morrer de fadiga. Apesar do medo da morte, não podia parar. "Se depois de ter corrido tudo isto, parasse agora, chamavam-me doido". E corria mais e mais e já estava mais próximo e já ouvia os Baquires a gritar; os gritos mais lhe faziam pulsar o coração; reuniu as últimas forças e deu mais uma carreira. O Sol estava já perto do horizonte e, envolvido na névoa, parecia enorme e vermelho como sangue. Ia-se pondo, o Sol! Estava já muito baixo, mas ele também estava perto da meta; podia ver os Baquires na colina, a agitarem os braços, para que se apressasse; podia ver o barrete no chão com o dinheiro em cima e o chefe, sentado, e de mãos nas ilhargas. Pahóm lembrou-se do sonho.
- Tenho terra bastante, mas permitirá Deus que eu viva nela? Perdi a vida, perdi a vida! Já não chego àquele lugar.
Pahóm olhou para o Sol que já tinha atingido o horizonte: um lado já tinha desaparecido; com a força que lhe restava atirou-se para a frente, com o corpo tão inclinado que as pernas mal podiam conservar o equilíbrio; ao chegar à colina, tudo escureceu: o Sol pusera-se; deu um grito: "Tudo em vão!" e ia parar, quando ouviu os brados dos Baquires e se lembrou de que eles ainda viam o Sol, lá de cima do outeiro; tomou um hausto de ar e trepou pela colina; ainda havia luz: no cimo lá estava o barrete e o chefe a rir-se, de mãos na barriga; outra vez Pahóm lembrou o sonho; soltou um grito, as pernas falharam-lhe e foi com as mãos que agarrou o barrete.
- Grande homem, grande homem! - gritou o chefe. - A terra que ele ganhou!
O criado de Pahóm veio a correr e tentou levantá-lo, mas viu que o sangue lhe corria da boca. Pahóm morrera!
Os Baquires davam estalos com a língua, para mostrar a pena que sentiam. O criado pegou na pá, fez uma cova em que coubesse Pahóm e meteu-o dentro; sete palmos de terra: não precisava de mais.
Leão Tolstoi
Um tolo
Entre nossos criados havia um jovem que era órfão. Chamava-se Panka. Vivia entre os domésticos. Vestia as roupas usadas dos outros e compartilhava a ração da mulher do vaqueiro e seus filhos. Alegremente ajudava todo mundo, isto é, não o incomodava que alguém o fizesse trabalhar em seu lugar. Deste modo chegava a trabalhar da manhã à noite, sem repouso nem trégua. Lembro-me como se fosse ontem: durante o Inverno - e entre nós o Inverno era algumas vezes bastante rude - quando nos levantávamos e corríamos à janela, era fatal encontrar nosso Panka, curvado até o chão, puxando um largo trenó carregado de feixes de feno ou de palha e igualmente cheio de grãos para o gado e as aves. À hora em que nos levantávamos, Panka já iniciara suas tarefas e nós o víamos muito raramente, ora junto ao estábulo, ora mastigando um pedaço de pão molhado na água do balde.
Quando lhe perguntávamos:
- Por que é que comes pão seco, Panka?
Ele respondia prazenteiramente:
- Seco? Nada disso. Não estão vendo que ele está molhado?
- Mas falta juntar aí muita coisa. Por exemplo: couve, pepino, batatas.
Panka, porém, franzindo a testa, respondia:
- Os senhores querem muita coisa! Graças a Deus não existe isso aqui.
Apertando a cintura, Panka voltava aos seus trenós. O trabalho nunca o esgotava, apesar de ajudar todo o mundo.
Limpava as cavalariças, os currais, dava forragem aos animais, levava os carneiros ao bebedouro, sem contar ainda que, em certas tardes, enchia o tempo a trançar as sandálias, algumas vezes para ele, mas quase sempre para os outros. Sempre o último a se deitar, sempre o primeiro a se erguer, o pobre Panka não possuía qualquer encanto. Ninguém o lastimava. Ao vê-lo, todo mundo dizia:
- Não tem importância. É um tolo, um parvo, um basbaque.
- Bobo por quê?
- Por tudo.
- Por exemplo?
- Ora, exemplo! Se você quer um, vai aqui: a mulher do vaqueiro dá a seus filhos todos os pepinos, todas as batatas, sem que Panka se irrite com isto. Nunca pediu nada em troca, nunca se lastimou. Você está vendo que se trata de um bobo!
Nós, os meninos, não entendíamos nada dessas coisas. Panka nunca se aborrecera connosco, nunca nos dissera a menor asneira, dele só recebíamos gentilezas, pois era ele quem fazia para nós, de casca de madeira, pequenos moinhos e cestos. No entanto, como toda a gente, também achávamos que era um tolo. Ninguém nos dizia o contrário, mesmo porque uma tal legenda, tão divertida, não podia ser posta em dúvida.
Contratou-se um novo administrador, um homem severo que nunca perdoava nem deixava impune a menor falta. Estava sempre inspeccionando, sempre alerta à menor negligência.
Quando qualquer coisa lhe soava mal, parava seu carro, chamava o culpado e lhe ordenava:
- Procure o capataz e diga-lhe em meu nome, que aplique em você vinte e cinco vergastadas. Se não fizer isto, quando eu voltar, à tarde, você receberá o dobro.
E ninguém tentava pedir-lhe perdão, pois seria debalde, e qualquer um correria, com isso, o perigo de sofrer ainda mais. Ora, num belo dia de verão, o administrador, ao fazer o seu passeio diário, deu com um bando de poldros que, como se estivessem num pasto livre, espezinhavam os trigais verdes. O administrador ficou como louco.
Naquele tempo, a guarda dos poldros estava confiada a Petroucha, filho de Arina, a mulher do vaqueiro que guardava todas as batatas para seus filhos. Petroucha tinha, então, uns doze anos. Menor que Pavloucha, de compleição mais delicada - chamavam-no de "Bolacha" - era um menino divertido, pouco amigo do trabalho e muito menos de ajudar aos outros. "Bolacha" havia saído com os poldros cedinho, mas, castigado pelo frio, enovelara-se no seu casacão. O casaco era grosso e quente, e o sono não tardara a tomar conta dele: e, enquanto ele dormia, os poldros soltos se espalharam nos trigais. Logo que soube de quem era a culpa, o administrador açoitou Petroucha com o chicote e disse:
- Panka te substituirá de hoje por diante. Procura o capataz e manda que ele, em meu nome, te aplique vinte e cinco vergastadas. Se não fizeres isto até eu voltar, sofrerás o dobro.
E o administrador continuou o seu caminho. Petroucha caiu em lágrimas. Com o corpo todo num só tremor, pois que nunca fora chicoteado, disse a Panka:
- Panka, meu querido irmãozinho, eu estou com medo... Que é que devo fazer, Panka?
Panka alisou os cabelos e disse:
- Na primeira vez eu também tive muito medo... Mas que fazer? Nosso Senhor, Petroucha, também foi chicoteado.
Petroucha chorava cada vez mais.
- Eu tinha medo ao mesmo tempo de ir e de não ir. Pensei até em me afogar.
E durante muito tempo Panka tentou explicar suas razões a Petroucha. Finalmente disse:
- Está bem, preste atenção: fique aqui e eu vou correndo até a fazenda conseguir que o tirem desta encrenca. Pode ser que Deus lhe faça este favor.
- Mas o que fará você, Panka?
- Não se incomode nem se atormente mais. Tenho uma ideia.
E lá se foi Panka, num passo alegre, através do campo. Ao fim de uma hora, voltava, sorridente.
- Não tenha mais medo, meu rapazinho. Tudo está arranjado. Você não será mais castigado. "Como é que posso acreditar no que ele diz?", pensou consigo Petroucha. E custou a crer.
De tarde, o administrador interrogou o homem de guarda:
- Deve ter estado aqui um pastorzinho, não?
- Perfeitamente, Excelência, perfeitamente.
- E o senhor, certamente, acariciou o seu dorso, não?
- Perfeitamente, Excelência, perfeitamente.
- Acredito que o senhor não teve pena do infeliz, pois não?
- Fiz o melhor possível, Excelência.
A conversa ficou aí. Em seguida, porém, soube-se que um pastor havia sido castigado, mas que, no entanto, houvera um engano de endereço, e que Paulo havia recebido o que devia ser para Pedro. A notícia correu rápida e todo o mundo zombava de Panka. Petroucha, contudo, não foi punido.
- Ora, diziam - já que este bobo pagou por ele, acabou-se. Não se deve castigar duas vezes a mesma falta.
Agora me digam vocês se Panka era ou não um grande bobo!
E toda sua vida foi assim.
Alguns anos mais tarde veio a guerra da Criméia. Os recrutas foram levados e na vila só se fazia chorar: ninguém queria ir lutar, e as mães, sobretudo, estavam desoladas. Afinal, qual a mãe que não tem um pouco de piedade de seu filho?
Panka, porém, que alcançara, então, a maioridade, procurou o seu senhor:
- Meu senhor, - disse ele, - eu queria que me conduzisse à cidade para que eu me pudesse alistar.
- Alistar-se? Quem lhe deu essa ideia?
- Ninguém. É coisa minha. Quero-me alistar.
- Calma, rapaz. Reflita melhor.
- Já reflecti.
- E porquê, então?
- O senhor não está vendo que toda a vila está desolada? Eu, porém, sou um filho de Deus, não farei ninguém chorar. Quero-me alistar.
Tentaram mudar-lhe a ideia.
- Mas, meu rapaz, ridículo como você é, na guerra todo mundo zombará de você.
Panka, porém, replicava:
- Melhor, então. Melhor rir do que brigar: quando todo mundo estiver feliz e contente, só faltará fazer a paz.
Insistia-se:
- Pense melhor, rapaz. Fique em sua casa.
Mas ele não voltava atrás.
- Não, prefiro partir. Isto me dará prazer.
E Panka fez tudo o que planejara: foi à cidade, alistou-se, e quando os soldados voltaram, o povo da aldeia estava cheio de curiosidade.
- E então, como se portou o nosso bobo? Vocês o viram depois do seu alistamento?
- Sem dúvida que o vimos.
- Certamente todo mundo, no Exército, zombava dele. Um bobo daquela espécie!
- Sim, no começo os outros não o levaram a sério. Mas um dia, quando recebeu seus dois rublos de gratificação, ele fez uma coisa rara: foi ao mercado, comprou um cesto cheio de pastéis de ervilhas e trigo e distribuiu tudo entre os camaradas. Só se esqueceu dele mesmo. Então os outros, vendo isto, balançaram a cabeça e cada um lhe ofereceu a metade do seu pastel. Panka ficou encabulado: "Nada disso, rapazes. Estou dando os pastéis de muito bom coração, não quero nada de vocês. Podem comer, podem comer..." Então os recrutas ficaram em pé diante dele e lhe bateram amigavelmente no ombro: "Muito bem, meu rapaz, tu és um bom irmão!" Na manhã seguinte, na caserna, Panka foi o primeiro a se levantar, pôs em ordem todo o quarto comprido e limpou as botas dos soldados mais velhos. Fizeram a ele muitos cumprimentos e os mais velhos nos indagavam:
"O nosso irmão não terá sido castigado pela má sorte? Não é que o achemos maluco, isto não, mas há qualquer coisa nele que não é comum..."
E foi assim que Panka esteve na guerra, a guerra que ele passou inteira a cavar trincheiras e construir abrigos. Terminado seu tempo, voltou à sua condição de pastor, alugando-se aos tártaros da estepe para guardar seus cavalos. Partiu de Penza para o país dos tártaros, e muito tempo passou sem reaparecer aos seus conhecidos: vivia com seus cavalos numa região muito distante, para os lados das dunas de Ryn-Peski, onde um poderoso ricaço, Djangar-Khan, levava uma vida nómada. Quando vinha vender seus cavalos em Soura, Djangar-Khan aparecia com um ar tranquilo e acomodado; mas na sua região, na estepe, se entregava inteiramente ao seu alegre coração, castigando um, agraciando outro, seguindo seu capricho. Ninguém o podia disciplinar naquele deserto imenso, onde ele reinava como um déspota. Existiam, porém, no sul, outros amigos do bom viver, e entre eles um certo Khabiboula, bandido astucioso, que conseguira roubar de Djangar-Khan muitos dos seus melhores cavalos. Durante muito tempo, ninguém conseguiu agarrá-lo. Um belo dia, no entanto, durante um encontro, Khabiboula foi ferido e preso. Djangar-Khan, porém, que ia a um negócio no mercado de Penza, não podia ficar para julgar Khabiboula e lhe fazer sofrer um suplício capaz de inspirar aos seus asseclas um terror salutar.
Não querendo faltar à feira de Penza nem se mostrar com seu prisioneiro nos lugares submetidos às autoridades russas, Djangar-Khan decidiu, à margem de uma fonte, deixar Panka, um cavalo e Khabiboula preso em duas traves de ferro. Deixou também um saco de milho, um odre de água, e deu a Panka instruções severas:
- Guarda este homem como se fosse tua alma. Compreendes?
- Não é difícil de compreender. Fique tranquilo, meu senhor. Seguirei à risca as suas ordens.
Djangar-Khan partiu com todo o seu bando, e Panka iniciou uma conversa com Khabiboula.
- Vê aonde teus crimes te levaram! És um bravo, não se discute, mas toda tua bravura só serve para te fazer mal. Por que não te corriges?
Khabiboula respondeu-lhe:
- Se até hoje não me corrigi, acho agora tarde de mais para fazer tal coisa.
- Tarde por quê? Basta boa vontade e desejo de se corrigir. O resto vem depois com facilidade. Não tens uma alma semelhante a qualquer outra? Deixa de fazer o mal e Deus virá em tua ajuda e verás que tudo acontecerá bem.
Khabiboula suspirou:
- Não, meu amigo, é tarde. Este não é o momento propício para sonhar.
- Mas por quê?
- Porque estou aqui acorrentado à espera da morte.
- Pois vou libertar-te.
Khabiboula não acreditava no que ouvia. Panka, no entanto, lhe disse, num sorriso amigo e franco:
- Não estou brincando, falo seriamente. Khan me disse que te guardasse como à minha alma. Ora, sabes como se deve guardar a alma? Pois bem, irmão, é necessário ter piedade, é necessário que nossa alma sofra pelo próximo... E disto é que eu tenho necessidade neste instante, porque - sabes? não gosto de ver os outros sofrerem. Eu te vou soltar, colocar-te no cavalo: segue para onde bem entenderes. Se recomeçares a fazer o mal, a culpa não é minha - foi Deus que assim quis.
Dito isto, Panka arrancou as correntes e as traves de Khabiboula. Depois, ajudou-o a montar e lhe disse:
- Vai em paz!
E pôs-se a esperar, cheio de paciência, a volta de Djangar-Khan.
A espera foi longa, tão longa que a fonte estancou e só ficaram no odre algumas poucas gotas de água.
Eis que voltaram Djangar-Khan e seu bando. Khan relanceou a vista em torno. Depois perguntou:
- Mas onde está Khabiboula?
Panka respondeu:
- Deixei-o ir.
- Ir? Ir para onde? Que dizes tu?
- A verdade. Segui tuas instruções e fiz minha vontade. Havias-me ordenado que o guardasse "como se ele fosse minha alma"; ora, eu creio que a melhor maneira de guardar minha alma é sacrificá-la a outro. Tu querias - não é isto? - torturar Khabiboula, e eu não posso ver o próximo sofrer. Tortura-me, portanto, conforme melhor entendas, e minha alma saltará de alegria, pois, como vês, não tenho medo nem de ti nem de qualquer outra pessoa neste mundo.
Então Djangar-Khan abriu mais os olhos, ajustou o quepe, chamou todo o bando:
- Aproximem-se, que eu lhes direi o que penso.
Os tártaros formaram um círculo em torno de Djangar-Khan, e o chefe lhes disse em voz baixa:
- Segundo acredito, não poderei castigar Panka, porque, vê-se logo, sua alma deve estar à espera de um anjo.
- Não, responderam ao mesmo tempo todos os tártaros, não deves fazer-lhe mal; durante muitos anos estivemos perto dele e não o conhecemos direito, mas um instante só foi suficiente para vermos tudo claro: nós o tomamos por um tolo, mas ele bem poderia ser um justo.
Nicolau Lieskov
OS RUÍDOS DO BOSQUE
O bosque estava agitado.
Havia sempre ruído naquele bosque, um ruído regular, surdo, como o eco de campainhas longínquas; tranquilo e vago, como uma doce romanza sem palavras, como uma recordação do passado. Havia sempre ruído naquele bosque, porque era velho, muito velho, e nunca fora tocado pela acha dos lenhadores. Os altos pinheiros seculares, com os seus troncos vermelhos, poderosos, erguem-se como um exército sombrio, estreitando as suas copas verdes em abóbadas espessas.
Por baixo, havia calma e cheirava a alcatrão. Através do tapete de verdes agulhas que cobriam a terra, cresciam cogumelos gordos e fantásticos e altas ervas verdes. As flores humildes inclinavam, cansadas, as pesadas corolas. E no alto, incessantemente, sem interrupção, ouvia-se o ruído do bosque, lançando dolorosos suspiros.
Agora, estes suspiros soam cada vez mais fortes e profundos. Eu, montado no meu cavalo, caminhava por um estreito carreiro florestal. Embora não pudesse ver o céu, adivinhava pela obscuridade do bosque que lá no cimo se iam amontoando grossas nuvens. A hora era bastante avançada. Alguns raios de sol perfuravam a espessa folhagem, mas, sobre as árvores descia já o escuro.
Avizinhava-se a tempestade.
Era inútil pensar em caçar; resumia as minhas aspirações à possibilidade de chegar, antes do furacão, a um abrigo qualquer onde pudesse passar a noite.
O meu cavalo batia com os cascos nas raízes desnudadas de algumas árvores, e alargando as orelhas escutava com ansiedade o ruído do bosque. Também ele se mostrava impaciente, apressava o passo.
Ouviu-se o ladrar dum cão. Através das árvores, já mais distanciadas, viam-se as paredes brancas duma choça de cujo telhado saía um fumo azul. A choça, inclinada, com um tecto de palha enegrecida, acoitava-se como por detrás dum muro, entre os troncos vermelhos. Parecia querer esconder-se debaixo da terra, e os esbeltos e soberbos pinheiros debruçavam sobre ela as copas majestosas. No meio da clareira, muito apertados, havia um grupo de sobreiros novos.
A casa era habitada por dois guardas do bosque, Zajar e Máximo, companheiros habituais das minhas excursões de caça. Mas não deviam estar ali, visto que ninguém saíra ao meu encontro, apesar dos latidos do enorme cão. O avô, ancião de cabeça calva e bigodes brancos, permanecia sentado no limiar da choça. As barbas chegavam-lhe quase à cintura; os olhos eram escuros. Dir-se-ia que tentava recordar alguma coisa em vão.
- Bons dias avô. Está alguém em casa?
- Eh! - e o velho abanou negativamente a cabeça. - Não está nem Zajar, nem Máximo. Motria foi também ao bosque buscar a vaca... A vaca perdeu-se com certeza. Talvez a tenham devorado os ursos... Não, não está ninguém...
- Não importa. Espero, e faço-te companhia.
- Bem, se queres...
E enquanto amarro o meu cavalo a um carvalho, o velho olha-me com o seu olhar escuro e apagado. É muito débil, muito débil; não vê quase nada e as suas mãos tremem sempre.
- Quem és tu, moço? - perguntou-me quando me sentei a seu lado.
Cada vez que venho, faz-me a mesma pergunta.
- Ah! agora sim; sim, já me lembro - disse contente, enquanto compunha uma velha bota estragada. - A minha pobre cabeça não conserva muito a memória das coisas... É como um passador... Dos que morreram há muito tempo, lembro-me eu bem, mas a gente nova esqueço-a sempre. Porque, bem vês, já vivo há tanto tempo neste mundo...
- Há muito que vives nele, dizes?
- Sim, muitíssimo! Já cá andava no tempo em que os franceses vieram aqui para combater o nosso imperador.
- Então, podes contar alguma coisa! Viste muito, podes contar muito!...
Olha-me com estranheza.
- Eu? Mas o que pude eu ver? Nada, a não ser o bosque. Há sempre ruído nele; noite e dia, Inverno ou Verão. Como essas árvores, passei aqui toda a minha vida e nunca pensei em mais nada. Chegou a hora de morrer; mas, às vezes, quando começo a pensar, pergunto a mim mesmo se vivi verdadeiramente, ou não. Talvez nunca tenha vivido...
Por cima da clareira, detrás das espessas copas, apercebia-se o extremo duma nuvem negra. As pernadas dos pinheiros que rodeavam a casa agitavam-se ao impulso do vento. O ruído do bosque tornava-se mais forte ainda. O velho levantou a cabeça e apurou o ouvido.
- A tempestade aproxima-se - disse. - Bem a conheço! Sim, sim, bem sei! Quando o furacão se põe a grunhir, a puxar pelos pinheiros, a desenraizá-los da terra... até me dá calafrios. É o «demónio da selva» que se enfurece - acrescentou mais baixo.
- Como sabes tu isso avô?
- Oh, isso... sei-o e muito bem! Entendo a linguagem das árvores. Porque - repara! - as árvores também têm medo. Por exemplo, o álamo dos Alpes, essa árvore maldita... não pára de gemer. Treme quando há vento. O pinheiro também: quando está bom tempo canta docemente, mas quando faz vento começa a soprar e põe-se a gemer lugubremente. Escuta! Eu vejo mal mas tenho bom ouvido. Agora é o carvalho que começa a queixar-se, «o demónio da selva», ataca os carvalhos... É sempre assim antes da tempestade!
Com efeito, o grupo de carvalhos que se via no meio da clareira, defendidos pela muralha do bosque, sacudiam os seus ramos potentes e faziam um ruído surdo que se podia distinguir facilmente do dos pinheiros.
- Estás a ouvir rapaz? - disse o velho com um sorriso malicioso. - Eu sei muito bem; Quando os carvalhos começam a agitar-se, é garantido que há noite virá o «demónio do bosque», puxando por eles para os desfazer. Mas nem o próprio «demónio» pode nada contra o carvalho; é demasiado sólido.
- De que demónio falas tu, avô? Não disseste tu mesmo já, que é o furacão que os destroça?
Abanou a cabeça.
- Ah, sim, já ouvi dizer isso! Também me disseram que há pessoas que não acreditam em coisa alguma. É fantástico! E, no entanto, eu vi-o, como te vejo agora a ti, ou melhor ainda: porque agora os meus olhos não valem grande coisa, ao passo que então, eram ainda jovens. Que bem viam quando eu era jovem!
- Mas como o viste tu, avô?
- Foi num dia como o de hoje; primeiro, os pinheiros começaram a gemer: O-ho-ho! O-oh-oh! E cada vez mais lastimosa e doridamente. Os pinheiros sabiam que naquela noite o «demónio» ia atirar muitos por terra... Depois, ao anoitecer, os carvalhos começaram a agitar-se. E, quando a noite desceu, «ele» ali estava, percorrendo o bosque em todas as direcções, ora rindo, ora chorando de raiva, atacando furiosamente os carvalhos e dançando em volta das árvores... Uma vez - foi no Outono - olhei pela janela quando «ele» estava no bosque. Oh!, que furioso se pôs quando viu que eu olhava! Aproximou-se da janela e atirou-me para cima um tronco de pinheiro. Por pouco me não feriu na cara; diabos o levem! Mas eu não era tão tonto como isso; quando o vi aproximar-se, escapei-me. Que furioso estava, rapaz!
- Como é ele?
Como um velho salgueiro que cresce no pântano. Parece-se muito com ele. Os seus cabelos são como as folhas; as barbas também; o seu nariz, como um ramo curvo... Uf, que feio é! Não desejaria a nenhum cristão que se parecesse com ele, palavra de honra!... Noutra ocasião vi-o no pântano, muito de perto. Se queres, vem um dia de Inverno, talvez o vejas também. Sobe a esta montanha que fica aqui por trás e trepa a uma árvore alta. Às vezes, pode ver-se dali. Aproxima-se como uma coluna de fumo branco por cima do bosque, e girando em volta de si mesmo, desce da montanha ao vale. Dá algumas voltas a correr, e depois desaparece no bosque. Durante a sua caminhada cobre com neve as suas pegadas que vai deixando atrás. Se me acreditas, vêm vê-lo tu mesmo.
O velho estava visivelmente satisfeito da sua narrativa, como se a agitação do bosque e o furacão suspenso no ar, lhe reanimassem o velho sangue. Abanava a cabeça, sorria, e piscava os olhos.
De súbito, a sua testa enrugada ensombrou-se. Deu-me uma cotovelada e disse em tom misterioso:
- Sabes o que te digo? O «demónio do bosque» é muito feio; um bom cristão não deve nem sequer olhar para semelhante criatura; mas devemos ser justos: não faz mal a ninguém. Às vezes prega a sua partida; mas o homem não tem razão para se queixar dele.
- Seja, avô, mas pelo que tu mesmo disseste ele, uma vez, quis magoar-te na cara.
- Sim, é verdade, mas isso foi porque o enraiveceu muito que estivesse a vê-lo da janela. Mas se alguém se não mete nos seus assuntos, nunca fará o menor dano. «Ele» é assim! E, no entanto, aqui no bosque, os homens fizeram coisas muito mais horrorosas; podes acreditar-me.
Baixou a cabeça, e durante alguns minutos permaneceu embrenhado nas suas reflexões. Quando levantou os olhos e me olhou, notei neles como que um relâmpago da memória passada.
- Vou contar-te rapaz uma história que aconteceu aqui mesmo neste bosque. Há muito, muito tempo... Lembro-me dela como dum sonho vago; mas quando o bosque começa a agitar-se, a minha memória torna-se mais clara... Queres que te conte?
- Sim, sim, avô! Com muito gosto!
- Pois seja. Escuta...
Tenho que te dizer que os meus pais morreram quando eu era ainda muito pequeno. Deixaram-me completamente só neste vasto mundo. Triste situação! O nosso município não sabia o que fazer de mim, e o fidalgo também não. Pois bem, precisamente naquele momento veio do bosque à aldeia o guarda-florestal Román, e disse aos do Conselho:
- Dêem-me o rapaz. Eu sustento-o. Aborreço-me de estar só no bosque.
Os nossos vizinhos puseram-se muito contentes.
- Leva-o! - disseram logo.
E trouxe-me para sua casa. Desde então tenho vivido sempre neste bosque.
Román foi quem me educou. Era um homem terrível, Deus me perdoe. Enorme, com olhos negros e a alma também negra; tinha passado toda a vida, só, no bosque. A gente dizia que os ursos eram como irmãos dele, e os lobos seus sobrinhos. Conhecia todas as feras e não as temia; mas fugia dos homens e nem sequer os olhava... Era assim aquele Román! Quando me olhava eu tinha a sensação de que um gato me passava a cauda pelo pescoço. No entanto não era mau, e dava-me bastante bem de comer; às vezes até me assava patos. Quanto a isso, não tinha de que me queixar, não!
Pois bem, assim vivíamos os dois. Quando Román ia para o bosque deixava-me em casa fechado à chave, com medo que as feras me devorassem... Além disso, tinha uma mulher...
Foi o fidalgo quem lha deu. Um dia chamou-o a sua casa e disse-lhe:
- Casa-te, Román!
- Para quê? - perguntou Román. - Que se case o diabo que eu não quero. Não sinto a mínima falta duma mulher lá no bosque, tanto mais que já tenho em casa um filho. Não estava acostumado a mulheres e não as queria. Mas o patrão era mau: Quando me lembro dele, quero crer que não há hoje senhores semelhantes. Não, não os há! Por exemplo tu: dizem que és de origem nobre; talvez seja verdade mas nada há de senhorial em ti... Um bom rapaz e nada mais. Mas o outro, este de que te estou falando, era um verdadeiro senhor à moda antiga. O mundo é assim: centenas de homens têm medo dum único, e que medo! Compara um gavião a um frango: ambos saíram dum ovo; mas o gavião voa até ao céu, e quando grita, não só os frangos mas até os galos começam a tremer. Pois bem o gavião é um pássaro senhorial, e o frango é um simples camponês. Lembro-me ainda de quando era pequeno; uns camponeses, trinta homens pelo menos, transportavam em carros grandes vigas; pelo mesmo caminho passava o senhor, montado no seu cavalo, acariciando o bigode. Ao vê-lo, os aldeãos assustavam-se, fustigavam os seus cavalos para que deixassem o caminho livre e encostavam os carros a um lado, na fundura da neve. Depois passavam grandes trabalhos para tirarem os carros de lá.
E o senhor passeava tranquilamente pelo largo caminho, perfeitamente à vontade. Deus meu, como era severo! Os mujiks tremiam ante o seu olhar. Quando ria, toda a gente ficava contente; quando carregava o sobrolho, tudo em seu redor se tornava sombrio. Não havia ninguém que se atrevesse a contrariá-lo.
Mas Román, que tinha passado toda a vida no bosque, não compreendia estas coisas e o senhor perdoava-lhe muito.
- Quero que te cases - disse-lhe o senhor. - Não me perguntes porquê. Casa-te com Oxana.
- Não quero! - respondeu Román. - Não preciso dela. Que se case o diabo com ela, que eu não quero!
O senhor ordenou que trouxessem as vergastas. Deitaram Román ao chão.
- Queres casar-te? - perguntou o senhor.
- Não!
- Está bem! Dá-lhe mais vergastadas, mas das boas!
E deram-lhe tantas que ele já não podia mais, e era um mocetão bastante duro.
- Deixem-me! - gritou ele. - Que o diabo leve essa mulher! Nenhuma mulher vale que se sofra tanto por causa dela. Está bem, caso-me.
No território senhorial vivia um caçador, Opanas Schvidky. Voltava do campo precisamente nessa altura. Quando se inteirou de que obrigavam Román a casar-se com Oxana, caiu de joelhos diante do fidalgo e beijou-lhe a mão.
- Em vez de martirizar esse homem - disse, - permite-me que case eu com Oxana.
Que homem aquele!
Román estava muito contente. Levantou-se, vestiu as calças e disse:
- Isto vai bem! Podias ter chegado um pouco mais cedo! Vamos, senhor, estáveis equivocado, devíeis primeiro ter perguntado se havia alguém que quisesse casar-se de livre vontade. Mas em vez disso, mandais desancar um pobre homem. Os bons cristãos não procedem assim...
Román às vezes sabia dizer as verdades, até ao próprio fidalgo. Quando se aborrecia, toda a gente tinha medo dele, inclusive o fidalgo. Dessa vez, o fidalgo tinha lá a sua ideia: deu ordem para que deitassem de novo Román ao chão.
- Quero fazer a tua felicidade, grande animal! - disse ele. - Agora estás só no bosque e eu não tenho nenhum desejo de ir a tua casa... Dai-lhe outras tantas vergastadas até que se canse. E tu, Opanas, vai para o inferno! Ninguém te convidou e não tens portanto o direito de te sentares à mesa; mas se estás muito interessado, mando-te servir o mesmo prato que a Román.
Román estava aturdido. Os açoites faziam-lhe doer muito. Antigamente davam-se a valer! Suportou o martírio um longo bocado; mas por fim, acabou por cuspir indignado, e gritou:
- Seria demasiada honra para essa maldita Oxana que por sua causa dessem açoites a um cristão! Basta! Eu não sou nenhuma besta de carga para que me tratem assim! Já que tem de ser, bem: caso-me!
O fidalgo ria às gargalhadas.
- Até que enfim, te tornaste razoável! - disse. - A verdade é que não te poderás sentar junto da noiva no dia da boda; mas em contrapartida hás-de poder dançar.
Gostava de pregar partidas o nosso fidalgo. Mas teve um fim triste. Que Deus livre todos os homens cristãos dum fim semelhante! Não, eu não o desejaria a ninguém, nem mesmo a um judeu!...
Assim um dia Román se viu casado. Levou a rapariga para a sua choça do bosque. Nos primeiros dias não fazia senão ralhar-lhe, deitando-lhe em cara as vergastadas que tinha recebido por sua causa: Não está certo de que por ti, se martirize assim um bom cristão!
Sempre que voltava do bosque, começava por querer expulsá-la de casa.
- Vai-te, não quero nenhuma mulher em minha casa! Não gosto que nenhuma mulher durma comigo, porque cheiram mal...
Até isso dizia!
Mas depois, a pouco e pouco, foi-se habituando. Oxana punha a casa em ordem, varria, lavava, tudo andava limpo e arrumado. Román sentia-se contente e já não ralhava. Não só se reconciliou com ela, mas começou a amá-la. Palavra de honra! Até ele próprio se admirou.
- Devo dar graças ao senhor que me ensinou a ser razoável - dizia depois. - Deus meu, como fui tonto! Receber tantos açoites, e porquê. Agora compreendo que fazia mal negando-me a casar. Estou muito contente por possuir Oxana. Mesmo muito contente!
Passaram semanas e meses. Um dia vi que Oxana se sentou num banco e começou a gemer. Pela noite sentiu-se muito mal. No dia seguinte de manhã com grande surpresa minha, ouvi o choro duma criança. «Toma! Já temos uma criança em casa!», disse a mim próprio. E não me enganava.
A criança não viveu muito tempo: até à noite, mais nada. Quando anoiteceu, já não se ouvia. Oxana começou a chorar. Román disse-lhe:
- Pronto, acabou-se! Já não temos o menino! Mas não vale a pena chamar um padre, nós mesmos o enterraremos debaixo dum pinheiro.
Román atreveu-se a dizer isto! E não apenas a dizê-lo, mas a fazê-lo: fez uma cova e enterrou o menino. Vês aquele velho tronco, acolá? São os restos dum pinheiro que foi abrasado por um raio. Foi ali precisamente que Román enterrou a criança. E ouve o que te vou dizer, rapaz: quando se põe o sol e aparece no céu a primeira estrela, um passarito voa por cima daquele sítio lançando gritos lancinantes. Parte-se-me o coração ao ouvir esses gritos. Pois bem, esse passarito é a alma penada do menino que foi enterrado sem sacramentos, e suplica que se lhe ponha uma cruz. Disseram-me que só um sábio que conheça os livros santos poderá salvar essa alminha em pena; e só então deixará de lançar gritos lancinantes. Nós os que aqui estamos, não sabemos nada e nada podemos fazer por ela. Quando voa por cima de nós pedindo uma cruz, dizemos-lhe unicamente: «Vai-te, pobre alminha, que nada podemos fazer por ti!» Recomeça a voar, chorando, e volta sempre outra vez. Ah, bom moço, que digna de compaixão é aquela alminha penada!
Oxana esteve muito tempo doente. Quando se restabeleceu um pouco, passava horas inteiras sobre a tumba de seu filho. Meu Deus, o que ela chorou! Ouviam-se no bosque inteiro os seus lamentos! E não havia maneira de consolar a pobre... Román mostrava-se indiferente à perda do menino; só lamentava Oxana. Quando a via chorar, dizia-lhe:
- Cala-te mulher estúpida! Não tens razão para chorar. Aquele menino morreu, mas talvez tenhamos outros, e talvez sejam melhores do que aquele. Porque o menino morto, pode ser que não fosse meu... Eu não sei nada, mas a gente diz muitas coisas... E outro, com certeza que será meu...
Oxana não gostava de o ouvir falar assim. Punha-se muito, muito zangada, e começava a dizer-lhe coisas terríveis. Román não a tomava a sério.
- Fazes mal em gritar - dizia tranquilamente a Oxana. - Eu não afirmo coisa nenhuma; digo apenas que não sei se era meu. Porque, repara bem, dantes não eras minha nem vivias no bosque, mas entre os outros. Posso lá saber o que se passou? Agora que estás aqui comigo, sinto-me mais seguro; mas antes... Há alguns dias, quando fui à aldeia, uma mulher disse-me: «Que depressa que fizeste um filho!» Compreendes?... Basta de chorar e de gritar! Cala-te, senão bato-te!
Oxana limpava as lágrimas à pressa e calava-se. Verdade é que às vezes permitia-se responder a Román e até dar-lhe um golpe; mas quando ele se zangava a valer, tinha-lhe medo. Nesses momentos, enchia-o de beijos e carícias; olhava-o com ternura, nos olhos, e Román não tardava a acalmar-se. Tu, bom moço, talvez não compreendas isto, mas eu que já vivi muito, compreendo. E posso garantir-te que as mulheres sabem acariciar de tal jeito, com tal arte, que um homem furioso se torna como um cordeiro. Sim, sim! Já vi mulheres dessas! E Oxana era tão bela que não havia outra igual. As mulheres não são todas iguais.
Pois bem; uma vez ouviu-se no bosque uma buzina de corno: tra-ta, tará-tará, ta, ta, ta,! Todo o bosque se encheu de sons festivos. Eu era então pequeno e não compreendia o que aquilo significava. Os pássaros, assustados, começaram a voar, cheios de pânico; as lebres deitaram a correr como loucas em todas as direcções. Julguei que fosse alguma fera a rugir. Mas não era nenhuma fera; era o fidalgo que montado no seu cavalo, tocava o corno. Numerosos caçadores, também a cavalo, seguiam-no, conduzindo muitos cães de caça. E o mais formoso era Opanas Schvidky, o primeiro depois do fidalgo. Vestia um traje azul, um schapka com franjas douradas, uma magnífica espingarda ao ombro e um alaúde amarrado às costas. O fidalgo gostava muito de Opanas porque tocava alaúde admiravelmente e cantava canções muito bonitas. Além disso era belo. Que belo era! O fidalgo, comparado com Opanas era muito feio: calvo, com o nariz vermelho, os olhos cinzentos nada bonitos. Opanas era um grande conquistador de corações. Até eu mesmo quando o olhava sentia vontade de sorrir; já podes pois imaginar o efeito que produzia nas mulheres. Disseram-me que os pais e avós de Opanas eram cossacos, do sul da Rússia, livres como o vento, e todos galhardos, fortes e belos. É lógico: não se viam obrigados a trabalhar rudemente no bosque como nós, não faziam mais nada senão montar a cavalo e correr, rápidos, pelos campos e estradas, de lança às costas...
Pois bem; saí e vi o fidalgo e toda a comitiva, que parou diante da casa. Román ajudou o senhor a descer do cavalo e cumprimentou-o.
- E tu como vais, Román? - perguntou o senhor.
- Nada mal, obrigado! - respondeu o outro. - E vós como estais?
Decididamente não sabia como falar ao fidalgo. Todos os presentes se riram.
- Muito folgo de que tudo corra bem na tua casa - disse sorrindo o senhor. - E a tua mulher, onde está?
- Onde há-de estar? Lá dentro, como é natural.
- Então, entremos - disse o senhor.
E dirigindo-se aos seus homens acrescentou:
- Entretanto, ponde almofadas sobre a erva e preparai tudo quanto for necessário para felicitar os jovens esposos.
E seguido por Opanas e por Román que levava nas mãos a sua schapka, entrou em casa. Pouco depois, entrou também Bogdan, o fiel servidor do senhor. Já não há também servidores semelhantes; para com os outros criados era extremamente severo, mas para com o fidalgo era dócil como um cão. Só o fidalgo existia para ele. Contaram-me que depois da morte de seus pais Bogdan quis casar-se, mas o pai do fidalgo não o consentiu e fez dele uma espécie de ama do filho. «Este é o teu pai, a tua mãe, e a tua mulher - disse-lhe ele. - Cuida bem dele». Bogdan resignou-se; foi criado, ama e mordomo do jovem fidalgo; ensinou-o a montar a cavalo e a atirar com espingarda; depois que o pequeno amo se tornou homem, continuou a servi-lo dócil e fielmente como um cão. E não to quero ocultar: todos os que rodeavam Bogdan, o detestavam e o maldiziam porque fazia muito mal aos pobres. Para contentar o seu senhor, teria sido capaz de matar o próprio pai.
Depois, entrei em casa, também: era tão curioso! O fidalgo acariciava o bigode e sorria com ar de satisfação. Román estava a seu lado com o schapka na mão. Opanas, encostado à parede, sombrio e pensativo, parecia um jovem castanheiro sob a tempestade.
Qualquer dos três olhava para Oxana. Só o velho Bogdan, sentado num canto, esperava ordens do seu senhor. Oxana estava de pé, junto da lareira, com os olhos baixos, muito corada. Dir-se-ia que a pobre tinha o pressentimento de que ia acontecer alguma desgraça por causa dela. É sempre o mesmo: quando três homens se interessam por uma mulher, nada pode resultar de bom. Têm que acabar fatalmente em luta. Isto sei eu, que já vi muitas coisas...
- Bem, Román, estás contente com a mulher que te dei? - perguntou o senhor.
- Sim. Não tenho de que me queixar.
Opanas olhou para Oxana e disse muito baixo:
- És demasiado bruto para apreciar uma mulher como esta!
Román ouviu-o, e, voltando-se para Opanas, perguntou-lhe:
- Ora diga-me: Porque lhe pareço eu tão bruto?
- Porque nem sabes guardar a tua mulher! - respondeu Opanas.
Que palavras tão graves tinha pronunciado! O fidalgo cheio de cólera, bateu com o pé no chão; o velho Bogdan voltou a cabeça, e Román, tendo reflectido um instante, ergueu a cabeça e olhou para o fidalgo.
- E de quem tenho que guardar a minha mulher? - perguntou sem deixar de o olhar. - Das feras, guardo-a eu; diabos, não os há pelo bosque. Do senhor, que vem por aqui algumas vezes?! Portanto, que tenho eu a temer? Tem cuidado - continuou, ameaçando Opanas; - não digas coisas dessas senão queres arrepender-te.
Um pouco mais e teriam começado a lutar; mas o fidalgo interveio, prevendo as consequências da disputa.
- Calai-vos - ordenou. - Não viemos aqui para discutir. Temos que felicitar os jovens esposos e depois, à noite, começará a caçada. Vamos!
Saiu. Os criados já tinham preparado tudo debaixo das árvores.
Bogdan seguiu o amo. Opanas deteve Román no limiar da porta.
- Não te zangues, valente! - disse o cossaco. - Escuta o que te quero dizer: Viste como supliquei de joelhos ao fidalgo que me deixasse casar com Oxana? Não consentiu, paciência. Nada se pode contra o destino. Mas... não posso permitir que o nosso comum inimigo, o fidalgo, troce dela e de ti. Não o posso consentir. Estou disposto a tudo. Tu ainda não conheces bem Opanas. Antes que Oxana caia nos braços desse miserável, matá-los-ei aos dois. Que a sepultura lhes sirva de leito!...
Román olhou fixamente o cossaco e perguntou-lhe:
- Diz, não estás louco?
Não ouvi o que o outro respondeu. Estiveram um longo bocado falando em voz baixa. Finalmente Román bateu amigavelmente no ombro de Opanas.
- Ah, meu amigo! Como a gente é má! Eu que vivi sempre aqui no bosque, nem sequer o suspeitava. Se é verdade o que acabas de me dizer, o nosso fidalgo vai pagá-lo bem caro...
- Bom, - disse Opanas, - agora desaparece e procede como se nada soubesses. Sobretudo, que esse velho ascoroso do Bogdan de nada desconfie. Tu és esperto, mas esse cão tem um faro! Não bebas do vodka do fidalgo. E se te quiser mandar caçar, para ficar só na choça, leva os caçadores até ao sobreiro velho, diz-lhes que avancem sozinhos e que te irás juntar a eles por outro caminho mais curto. Em seguida, voltas aqui.
- Bem - fez Román; - hoje vou abater uma bela peça. Vou carregar a espingarda com as balas que emprego para os ursos.
Saíram ambos. O fidalgo estava sentado sobre um tapete, com uma garrafa e um copo nas mãos. Encheu um copo e estendeu-o a Román. O vodka do fidalgo era delicioso; depois do primeiro copo, sentia-se alma nova; depois do segundo, o paraíso abria-se diante de qualquer mortal, e, se o mortal não estava habituado a beber, ao terceiro caía por terra.
Era muito engraçado, o fidalgo! Queria emborrachar Román com o seu vodka; mas Román tinha uma cabeça firme e nenhum vodka do mundo teria sido capaz de lhe roubar a razão. Bebeu o primeiro copo, o segundo, e o terceiro; não produziram nele o mínimo efeito. Apenas os seus olhos brilhavam mais que o costume, como os dum lobo. O fidalgo ficou aborrecido.
- És o diabo! Dir-se-ia que bebes todos os dias vodka em vez de água. Outro, no teu lugar, já teria lágrimas nos olhos, e ele sorri...
O fidalgo sabia muito bem que se alguém começasse a chorar depois de ter bebido, não tardaria a cair como morto. Mas desta vez tinha-se enganado.
- Não tenho motivos para chorar - disse Román. - O nosso fidalgo veio felicitar-me e eu seria o último dos canalhas se começasse a chorar como uma velha. Graças a Deus, não tenho razões para chorar. Prefiro que sejam os meus inimigos a verter lágrimas.
- Então, vives satisfeito? - perguntou o fidalgo.
- E porque não havia de estar satisfeito?
- Lembra-te dos açoites que tive de te dar para que te casasses?
- Se me lembro! Nessa altura era um parvo e não sabia o que era amargo nem o que era doce. O açoite era amargo e, no entanto, preferia-o a esta mulher! Hoje, dou-vos graças, bondoso fidalgo por me teres ensinado a apreciar o mel.
- Bem, bem - respondeu o senhor. - Para melhor mo agradeceres, irás com os meus caçadores e trar-me-ás muita caça.
- Quando quereis que partamos?
- Vamos beber mais um bocadinho - respondeu o fidalgo. - Opanas vai cantar-nos alguma coisa e depois partiremos.
Román olhou-o e contestou:
- Isso vai ser difícil; faz-se tarde e o pântano está muito longe daqui... Além disso o ruído do bosque anuncia tempestade, e com este tempo é difícil caçar.
O senhor estava já um pouco borracho, e quando estava assim, aborrecia-se facilmente. Ao ver que todos os que ali estavam, davam razão a Román, dizendo que o tempo mostrava má cara, encheu-se de cólera, deu um soco para o ar... e toda a gente se calou.
Opanas era o único que não tinha medo do fidalgo. Agarrou no alaúde, deu uns acordes, e, olhando fixamente o senhor, disse:
- Reflecte bem, meu senhor; não se manda ninguém caçar quando sopra a tempestade; e sobretudo à noite.
Era muito corajoso aquele Opanas! Os outros tremiam diante do senhor; para ele, não valia um caracol. Era um cossaco livre. Quando ainda era muito pequeno um velho músico trouxe-o da Ucrânia para ali. Havia guerra na Ucrânia nessa altura; ao velho cossaco que caiu prisioneiro, arrancaram-lhe os olhos, cortaram-lhe as orelhas e disseram-lhe: «Podes ir para onde quiseres». Como não via, andava acompanhado por uma criança, o próprio Opanas. O pai do fidalgo tomou-o ao seu serviço. E desde então, vivia Opanas ali. O fidalgo actual queria-lhe muito e perdoava-lhe coisas que nunca teria perdoado a qualquer outro.
Mas desta feita zangou-se muito com Opanas. Todos tinham a certeza de que lhe ia bater; mas em vez disso, disse-lhe apenas:
- Escuta, Opanas! És demasiado inteligente para compreender que ninguém pode meter o nariz numa porta já aberta.
O cossaco compreendeu imediatamente o que ele queria dizer e respondeu ao senhor com uma canção. E se o fidalgo tivesse compreendido igualmente a canção do cossaco, a mulher dele não teria certamente de verter lágrimas sobre a sua sepultura.
- Para te agradecer a lição que acabas de me dar, senhor, vou cantar-te alguma coisa. Escuta!
E fez vibrar as cordas do seu alaúde.
Levantou imediatamente a cabeça, olhou para a águia que sobrevoava o bosque e contemplou as nuvens empurradas pelo vento; escutou o gemido dos altos pinheiros e de novo fez soar as cordas do seu alaúde.
Ah, bom moço, tu não tiveste a dita de ouvir tocar Opanas, e já não a podes ter. O alaúde não é um instrumento muito complicado; mas quando se sabe manejar, fala com uma voz eloquente. Bastava que Opanas lhe tocasse com as mãos, e ele dizia tudo: como se agita o bosque debaixo da tempestade, como o vento sacode a erva seca, e como choram os salgueiros sobre a tumba dum cossaco.
Não, bom moço, vocês não ouvirão jamais uma música como aquela! Chegam para estes lados, com frequência, pessoas que viram alguma coisa, que passaram por Kiev, Poltava, e por toda a Ucrânia, e todos garantem que já não há bons tocadores de alaúde, nem nas feiras e romarias. Eu tenho um alaúde. O próprio Opanas me ensinou a tocá-lo. Mas quando eu morrer, o que já não tarda muito, em nenhuma parte do mundo se saberá tocar bem alaúde.
Opanas pôs-se a cantar uma canção, acompanhando-se ao alaúde. A sua voz era doce e melancólica e penetrava directamente nos corações. Aquela canção, tinha-a improvisado expressamente para o fidalgo. Eu supliquei-lhe depois que a cantasse outra vez, mas ele não quis.
- Aquele para quem a cantei já não existe - dizia. - Não vale a pena voltar a cantá-la.
Nesta canção dizia ele ao fidalgo, toda a verdade, tudo o que iria acontecer. O fidalgo ao ouvi-la chorava, mas, provavelmente, não entendeu o seu significado.
Lembro-me várias vezes dessa canção. Ouve estes bocadinhos:
Tu sabes muitas coisas
Oh, Ivan, meu senhor!
Tu sabes muitas coisas.
Tu sabes que o gavião é mais forte do que o corvo mas talvez não saibas que às vezes acontece exactamente ao contrário.
Quando o gavião ataca o ninho do corvo e este se defende, é o corvo o mais forte!
Oh, Ivan meu senhor!
Lembro-me de tudo isto como se tivesse sido ontem: o cossaco com o seu alaúde, de pé, junto duma árvore; o fidalgo sentado sobre o tapete com a cabeça baixa e lágrimas nos olhos; os criados emocionados, dando-se cotoveladas uns aos outros; o velho Bogdan abanando a cabeça. O bosque agitava-se como agora; o alaúde lançava sons plangentes, e Opanas cantava, na sua canção, como a mulher do fidalgo havia de chorar na sua tumba:
A pobre mulher chora!
Chora lágrimas de fogo sobre a tumba fria onde jaz o esposo.
E o corvo voa por cima, grasnando sem cessar.
Mas o senhor não compreendeu a canção. Enxugou as lágrimas e exclamou:
- Eh, Román, em marcha! Montai todos a cavalo! Tu Opanas irás com eles; já estou farto das tuas canções! É muito linda essa tua canção, mas o que contas nela, nunca pode acontecer.
O próprio Opanas estava comovido com a canção. O coração abrandava-se-lhe, os olhos estavam velados pelas lágrimas.
- Não, meu senhor - disse. - Os nossos antepassados acreditavam que as canções dizem sempre a verdade, como nos contos; mas a verdade contida nos contos é como o ferro, que à força de passar de mão em mão, se cobre de ferrugem; enquanto que a verdade da canção é como o ouro, que não cria ferrugem. Foi isto que me ensinaram os mais velhos que eu!
O fidalgo fez um gesto de desprezo.
- Talvez seja verdade, lá na vossa terra, mas aqui... Basta de conversas! Desaparece, Opanas!
O cossaco permaneceu um momento sumido em reflexões; depois, subitamente, caiu de joelhos
- Escuta-me, senhor! Monta a cavalo e volta para casa, para junto da tua mulher. O coração diz-me que vai acontecer uma grande desgraça.
Então o fidalgo teve uma fúria terrível; afastou o cossaco com um pé, como se ele fosse um cão.
- Deixa-me em paz! Vai-te! Pareces uma velha carpideira e não um cossaco! Vai-te, ou não respondo por mim!
E depois, dirigindo-se aos outros:
- E vós, porque continuais aqui? Ou será que já não sou o vosso amo? Tende cuidado, se me zango deveras!...
Opanas levantou-se sombrio e ameaçador, como uma das nuvens que se amontoavam sobre o bosque. Trocou um olhar com Román, que continuava de pé, um pouco afastado, com as mãos apoiadas na espingarda, perfeitamente tranquilo.
O cossaco deu com o seu alaúde uma pancada formidável contra uma árvore, e o alaúde partiu-se em mil pedaços com um gemido sonoro.
- Que o próprio diabo diga a verdade àquele que não quer escutar bons conselhos! - gritou. - Tu, fidalgo, não quiseste acreditar num servidor fiel... Pior para ti!
E naquele mesmo instante Opanas saltou sobre o seu cavalo e partiu. Os outros caçadores fizeram o mesmo. Román pôs a arma ao ombro e partiu também. Ao passar junto da casa, gritou a Oxana:
- Deita o rapaz, já é tarde! E prepara a cama ao fidalgo!
Em poucos minutos toda a gente tinha desaparecido a caminho do bosque. Não ficou ali ninguém além do fidalgo que entrou logo em casa; o cavalo ficou atado a uma árvore. Pouco a pouco desciam as trevas da noite. A chuva começou a cair, como agora.
Oxana deitou-me na palha, e obrigou-me a fazer o sinal da cruz. Vi que chorava.
Eu era demasiado criança, e não compreendia nada do que se passava à minha volta. Depressa adormeci, debaixo do ruído monótono da tempestade.
Subitamente acordei e vi que alguém rondava a casa. Aproximou-se da árvore e desatou o cavalo, que começou a cavar a terra com o pé, e, a relinchar, fugiu para o bosque. Depois voltei a ouvir alguém, a cavalo, que se acercava também da casa. Chegou até à porta, saltou para terra e espreitou pela janela.
- Senhor! - gritou Bogdan, pois era ele: reconheci-lhe a voz. - Senhor, abre imediatamente. Esse maldito Opanas trama qualquer coisa contra ti! Desatou o teu cavalo que fugiu para o bosque!...
Mal tinha dito isto, quando alguém o agarrou por trás. Ouvi o ruído dum corpo que caía.
O fidalgo abriu a porta com a sua espingarda na mão; mas, à entrada da porta, Román agarrou-o e atirou-o ao chão.
O fidalgo compreendeu que aquilo tomava mau caminho e disse:
- Larga-me, Román! É assim que me agradeces o bem que te tenho feito?
Román respondeu-lhe:
- Sim, canalha; lembro-me perfeitamente do que fizeste por mim e por minha mulher, e agora vou-to pagar.
Então o fidalgo disse:
- Defende-me Opanas, meu fiel servidor. Sempre me amaste como um filho!
Mas Opanas respondeu:
- Escorraçaste-me como a um cão! É verdade que gostaste de mim... Como o pau gosta das costas em que bate. Agora gostas de mim como o pau, das costas... Roguei-te, supliquei-te e não fizeste caso de mim.
Então o senhor virou-se, implorando para Oxana:
- Tu, que tens tão bom coração, defende-me!
Oxana saiu, desesperada, e pôs-se a chorar mais forte.
- Também eu te roguei, e me arrastei a teus pés, suplicando-te que não me desonrasses, que não me cobrisses de vergonha. E tu foste implacável. Que posso eu fazer por ti, desgraçada de mim?
- Deixai-me! - gritou novamente o fidalgo. - Senão, hão-de morrer todos desterrados na Sibéria.
- Nada receies por nós - respondeu Opanas. - Román estará no pântano antes dos teus caçadores, e eu, estou só no mundo e não tenho medo de ninguém. Com a minha espingarda ao ombro irei por esses bosques. Organizarei uma quadrilha de rapazes valentes como eu, e, os ricos que tenham cautela! Percorreremos os caminhos em busca dos seus despojos e se o acaso nos levar a qualquer aldeia, não deixaremos de visitar o castelo senhorial... Eh, Román, vamos pôr sua Senhoria debaixo da chuva... para se refrescar um pouco!...
O senhor começou a lançar verdadeiros alaridos; mas nem Román nem Opanas se preocuparam com isso, atiraram-no para fora de casa. Cheio de pasmo, eu tinha-me atirado para cima de Oxana que permanecia sentada num banco no interior da casa, branca como a neve, chorando.
A tempestade tornou-se muito mais violenta. O bosque gritava com mil vozes; o vento soprava enraivecido. De vez em quando ouvia-se o trovão. Eu e Oxana, apertados um contra o outro, continuávamos sentados, imobilizados pelo terror. De súbito ouvimos um gemido no bosque. Era tão doloroso que ainda hoje, passados tantos anos, se me oprime o coração quando penso nele.
- Oxana querida, quem geme tão dolorosamente no bosque? - perguntei.
Apertou-me nos seus braços e embalando-me como a um menino de colo, disse-me:
- Dorme, meu filho, não é nada... É o ruído do bosque...
Era verdade, o bosque estava muito agitado.
Passados poucos instantes ouvi um tiro.
- Oxana querida, quem é que está a disparar?
Respondeu-me sem parar de me embalar:
- Cala-te meu filho; é o trovão de Deus!...
E a pobre mulher apertava-me contra o seu coração, chorava lágrimas ardentes e não se cansava de repetir:
- É o ruído do bosque, meu filho... É o ruído do bosque...
E assim me fiquei, adormecendo nos seus braços.
No dia seguinte de manhã, abri os olhos e vi que o sol inundava tudo. Oxana dormia, vestida, sobre o banco. Não havia ninguém em casa. Lembrei-me do que se tinha passado na véspera e comecei a julgar que se tratava dum pesadelo.
Mas aquilo não tinha sido um sonho, mas a pura realidade! Saí para o bosque. A erva brilhava, os pássaros cantavam. De repente, vi numa moita dois corpos: o do fidalgo e do velho Bogdan, um junto do outro. O rosto do primeiro estava sereno e pálido; o do segundo severo, como quando vivia. Ambos tinham manchas de sangue.
O velho baixou a cabeça e calou-se.
- E que foi feito dos outros? - perguntei.
- Sucedeu o que tinha previsto Opanas. Este, durante muito tempo habitou o bosque; percorria os caminhos com outros rapazes e atacava os castelos senhoriais. Era o seu destino: os seus avós também tinham sido bandidos. Às vezes vinha a nossa casa, a esta mesma casita, especialmente quando Román não estava. Sentava-se num banco, pegava no alaúde e cantava-nos canções. Outras vezes vinha com os camaradas. Román e Oxana recebiam-no sempre muito bem. Para dizer toda a verdade, havia ali alguma coisa que não estava certa; daqui a pouco chegam Zajar e Máximo. Olha bem para eles. Eu não lhes digo nada. Mas qualquer pessoa que tenha conhecido Román e Opanas, verá imediatamente com quem se parecem. Com Román não. E foi isto o que se passou neste sítio há tanto tempo... Ouves como se agita o bosque? A tempestade vem aí; anda por cima dele, não há dúvidas.
O velho estava visivelmente cansado; a sua língua entorpecia-se cada vez mais; os olhos estavam vermelhos, a cabeça inclinada.
A noite tinha descido sobre a terra. Quase não se via o bosque que se agitava em redor da casita, como um mar ondulante. As copas das árvores pareciam as ondas do mar durante uma tempestade.
O ladrar do cão anunciou a chegada dos dois donos da casa. Os dois guardas do bosque aproximavam-se apressadamente, seguidos por Motria, que trazia a vaca que julgaram perdida.
Poucos minutos depois estávamos todos no interior da casa. O fogo ardia alegremente na chaminé e Motria servia a ceia.
Não era a primeira vez que eu via Zajar e Máximo; mas nessa altura examinei-os com maior interesse. Zajar tinha um rosto sombrio, sobrancelhas negras que se uniam na testa estreita; havia nele esse ar de honradez que caracteriza os homens fortes. Máximo tinha uma expressão franca, grandes olhos cinzentos e cabelos encaracolados. O seu riso era alegre e contagioso.
- Com que então o velho contou-lhe a história do nosso avô? - perguntou Máximo
- Contou - respondi.
- Faz sempre o mesmo. Quando o bosque começa a agitar-se ele recorda o passado. Agora, não poderá dormir.
- É como uma criança! - disse Motria, servindo a sopa ao velho.
Este não compreendia que era dele que se falava. Nalguns momentos, quando o vento chicoteava a janela, mostrava-se angustiado e apurava o ouvido como se espionasse alguma coisa, cheio de espanto.
Depressa se restabeleceu a calma. O archote iluminou debilmente a habitação. Um grilo cantava junto da parede a sua monótona canção. Parecia que milhares de vozes, surdas mas poderosas, discutiam no bosque; forças tenebrosas e ameaçadoras preparavam-se para se lançar, de todos os lados, sobre a casita, e elaboravam um plano de ataque. Às vezes, quando aumentava, a porta tremia como se fosse empurrada do lado de fora. O vento lançava através da chaminé sonoros lamentos. Depois, a tempestade calou-se um pouco: por momentos reinou um silêncio pesado e ameaçador, que cedeu em seguida, ante novos ruídos: dir-se-ia que os velhos pinheiros tramavam entre si desprender-se da terra e voar com a tempestade, pelo espaço desconhecido.
Dormi uns instantes. A tempestade seguia o seu curso. O archote tão depressa se extinguia como se reanimava, iluminando o compartimento. O velho, sentado no seu banco, olhava em volta como se esperasse que alguém viesse sentar-se a seu lado. O seu rosto tinha uma expressão infantil de pasmo e impotência.
- Oxana, minha querida! - balbuciou. - Quem é que geme no bosque?
Procurou qualquer coisa com a mão e prestou ouvidos:
- Não, não é nada - respondeu a si mesmo. - É a tempestade... É o ruído do bosque... Nada mais que o ruído do bosque...
Passaram alguns minutos... Os relâmpagos iluminavam de quando em quando as janelas, por trás das quais se viam árvores, por entre os relâmpagos, com formas fantásticas. Um daqueles relâmpagos, seguido dum trovão formidável, fez-nos estremecer a todos.
O velho parecia muito assustado.
- Oxana querida, quem é que está a dar tiros no bosque?
- Dorme, velho! - disse tranquilamente Motria, que também tinha despertado. - Sempre a mesma coisa - acrescentou, dirigindo-se a mim. Quando a tempestade ruge, chama por Oxana, que há muito tempo está no outro mundo.
E Motria, bocejou, murmurou uma oração e adormeceu de novo. Restabeleceu-se a calma, cortada espaço a espaço pelos ruídos da tempestade e pelo balbuceio ansioso do ancião.
- É o ruído do bosque!... É o ruído do bosque!... Oxana, minha querida!...
Pouco depois uma bátega caiu sobre o bosque. O ruído da água que caía abundantemente, afogava os rugidos do vento e os gemidos dos pinheiros, sacudidos pela tormenta.
Vladimir Korolenko
A mulher do farmacêutico
A cidadezinha de B., composta de duas ou três ruas tortas, dorme um sono profundo. No ar parado tudo é silêncio. Ouve-se apenas, ao longe, decerto além da cidade próxima, o tenorzinho ralo e rouco dos latidos de um cão. Aproxima-se a madrugada.
Há muito tempo que tudo dorme. Só não dorme a jovem esposa do farmacêutico. Tchornomordik, dono da farmácia de B. Por três vezes ela já se deitou - mas o sono teima em não vir - e não se sabe porquê. Ela sentou-se junto à janela aberta, de camisola, e olha para a rua. Está com calor, aborrecida, entediada - tão entediada que tem até vontade de chorar, mas por que - também não se sabe. Sente um bolo esquisito no peito, querendo subir para a garganta a toda hora... Atrás, a alguns passos da mulher, aconchegado junto à parede, ronca pacificamente o próprio Tchornomordik. Uma pulga voraz grudou-se-lhe ao nariz, mas ele não a sente, e até sorri, porque sonha que na cidade todos estão tossindo e compram-lhe incessantemente "Gotas do Rei da Dinamarca". Agora não é possível acordá-lo nem com picadas, nem com canhões, nem com carinhos.
A farmácia fica quase na beira da cidade, de modo que a mulher do farmacêutico pode ver a campina, bem longe. Ela vê como pouco a pouco clareia a borda oriental do céu, e depois fica rubra, como que do clarão de um grande incêndio. De repente, de trás de uma touceira distante, aparece uma grande lua de cara larga. Está vermelha (em geral a lua, quando sai de trás dos arbustos, costuma estar, não se sabe porquê, horrivelmente encabulada).
De súbito, no silêncio noturno, ressoam passos e o tinir de esporas. Ouvem-se vozes.
"Devem ser oficiais voltando do distrito policial, para o acampamento" - pensa a mulher do farmacêutico.
Pouco depois, aparecem dois vultos vestidos com as túnicas brancas de oficiais; um grande e gordo, o outro menor e mais esguio... Preguiçosamente arrastando os pés, eles vêm andando ao longo da cerca, a conversar em voz alta. Chegando até a farmácia, os dois vultos começam a andar ainda mais devagar e olham para as janelas.
- Cheira a farmácia... - diz o magro. - E é uma farmácia mesmo! Ah, já me lembro... estive aqui na semana passada, comprei óleo de rícino. De um farmacêutico de cara azeda e queixada de burro. E que queixada, homem! Foi com uma dessas que Sansão matava os filisteus.
- Hum... - diz o gordo com voz de baixo. - Dorme a botica. E o boticário também dorme. Aqui, Obtiossov, existe uma boticária bonitinha.
- Eu a vi. Ela me agradou muito... Diga-me, doutor, será possível ela amar essa queixada de burro? Será possível?
- Não, decerto ela não o ama - suspira o doutor com expressão de quem tem pena do farmacêutico. - E agora, dorme a belezinha atrás da janelinha! Hein, Obtiossov? Descobriu-se com o calor... a boquinha entreaberta... e a perninha pende para fora da cama... Vai ver, o burro do farmacêutico nem entende nada desta riqueza... Para ele, quiçá, uma mulher ou uma garrafa de ácido carbólico, é a mesma coisa!
- Sabe duma coisa, doutor? - diz o oficial, parando. - Vamos entrar na farmácia e comprar qualquer coisa. Quem sabe, vai dar pra ver a "farmacêutica".
- Que idéia! No meio da noite!
- E daí? Então eles não têm obrigação de atender também à noite? Vamos, amigão!
- Vá lá...
A mulher do farmacêutico, escondida atrás da cortina, ouve a campainha esganiçada. Com um rápido olhar para o marido, que ronca como dantes e sorri beatificamente, ela enfia o vestido, põe os sapatos nos pés descalços e corre para a farmácia.
Atrás da porta de vidro percebem-se duas sombras. A mulher do farmacêutico aviva o fogo da lâmpada e corre para abrir a porta, e já não está tão aborrecida, nem entediada, nem tem vontade de chorar, só o coração bate com muita força. Entram o gordo doutor e o esguio Obtiossov. Agora já dá para examiná-los. O barrigudo doutor é moreno, barbudo e desajeitado. Ao menor movimento, a túnica lhe estala no corpo e o suor lhe umedece o rosto. Já o oficial é rosado, glabro, efeminado e flexível como um relho inglês.
- O que desejam os senhores? - pergunta a mulher do farmacêutico, aconchegando o vestido sobre o seio.
- Dê-nos... eeehh... quinze copeques de pastilhas de hortelã.
A mulher do farmacêutico alcança sem pressa o pote na prateleira e põe-se a pesar. Os compradores, sem piscar, fitam-lhe as costas; o doutor franze o rosto como um gato satisfeito, mas o tenente está muito sério.
- É a primeira vez que vejo uma senhora trabalhando numa farmácia - diz o doutor.
- Isso não tem nada de extraordinário... - responde a mulher do farmacêutico, olhando de esguelha para o rosto rosado de Obtiossov. - Meu marido não tem auxiliares, e eu sempre o ajudo.
- Ah, é assim... pois a senhora tem aqui uma farmácia muito simpática... Que quantidade destes... diversos potes! E a senhora não tem medo de mexer com estes venenos! Brrr!
A mulher do farmacêutico fecha o pacotinho e entrega-o ao doutor. Obtiossov dá-lhe quinze copeques. Meio minuto passa em silêncio. Os homens se entreolham, dão um passo em direção à porta, entreolham-se novamente.
- Dê-nos dez copeques de bicarbonato! - diz o doutor. A mulher do farmacêutico, movendo-se preguiçosa e lentamente, torna a estender a mão para a prateleira.
- Será que não existe aqui na farmácia alguma coisa assim... - balbucia Obtiossov, mexendo os dedos - alguma coisa assim, sabe, alegórica, um fluido vitalizante qualquer... água de Seltzer, talvez? A senhora tem água de Seltzer?
- Tenho - responde a mulher do farmacêutico.
- Bravo! A senhora não é mulher, e sim uma fada. Arranje-nos três garrafinhas!
A mulher do farmacêutico embrulha apressada o bicarbonato e desaparece na escuridão atrás da porta.
- Que fruto! - diz o doutor, piscando um olho. - Uma romã dessas, Obtiossov, nem na ilha da Madeira você encontra. Hein? Que acha? Entretanto... está ouvindo o ronco? É o próprio senhor farmacêutico que se digna repousar.
Um minuto depois, volta a mulher do farmacêutico e põe sobre o balcão cinco garrafas. Ela acaba de voltar do porão e por isso está corada e um pouco excitada.
- Pssst... mais baixo - diz Obtiossov, quando ela, abrindo as garrafas, deixa cair o saca-rolhas. - Não faça tanto barulho, senão vai acordar o marido.
- E que é que tem, se o acordar?
- Ele está dormindo tão gostoso... sonhando... com a senhora... À sua saúde!
- E depois - diz o doutor com sua voz de baixo, arrotando devido à gasosa - os maridos são uma história tão cacete, que fariam bem se dormissem o tempo todo. É, com esta agüinha seria bom um vinhozinho tinto.
- Essa agora, que idéia! - ri a mulher do farmacêutico.
- Seria excelente! Pena que nas farmácias não vendam bebidas espirituosas! Entretanto... a senhora deve vender vinho como remédio. A senhora tem vinum gallicum rubrum?
- Tenho.
- Então! Traga-o aqui! Com os diabos, carregue-o para cá.
- Quantos desejam?
- Quantum satis! Primeiro a senhora nos dá uma onça para cada copo, e depois, veremos... Hein, Obtiossov? Primeiro, com água, e depois, per se...
O doutor e Obtiossov sentam-se junto ao balcão, tiram os quepes e põem-se a beber o vinho tinto.
- Mas este vinho, força é confessar, é o que há de péssimo! "Vinum ruinzissimum". Porém, na presença de... eeeh... ele parece um néctar! A senhora é encantadora, madame! Beijo-lhe em pensamentos a mãozinha.
- Eu pagaria caro para poder fazê-lo sem ser em pensamentos! - diz Obtiossov. - palavra de honra! Eu daria a vida!
- O senhor, por favor, deixe disso... - diz a Senhora Tchornomordik, enrubescendo e fazendo uma cara séria.
- Mas como a senhora é coquete! - ri o médico em voz baixa, fitando-a de esguelha, com ar malandro. - Os olhinhos soltam chispas, dão tiros: pif! Paf! Meus parabéns! A senhora venceu! Fomos derrotados!
A mulher do farmacêutico observa os seus rostos corados, ouve a sua tagarelice e logo também fica animada. Oh, ela já está tão alegre! Ela entra na conversa, ri, coquete, dengosa, e até, após longas súplicas dos compradores, bebe umas duas onças de vinho tinto.
- Os senhores oficiais deveriam vir mais vezes para a cidade, lá do acampamento - diz ela - porque senão aqui é um horror de cacete! Eu quase morro.
- E não é para menos! - horroriza-se o doutor - uma romã assim... maravilha da natureza... neste deserto! Como tão bem o disse Griboiedov: "Para o deserto! Para Saratov!" Mas já é tempo de irmos. Muito prazer em conhecê-la... imenso! Quanto devemos?
A mulher do farmacêutico ergue os olhos para o teto e fica muito tempo movendo os lábios.
- Doze rublos, quarenta e oito copeques! - diz ela.
Obtiossov tira do bolso uma carteira recheada, remexe longamente no maço de notas e paga.
- Seu marido dorme deliciosamente... tem sonhos... - murmura ele, apertando a mão da mulher do farmacêutico em despedida.
- Não gosto de ouvir tolices...
- Que tolices são essas? Pelo contrário... não são tolices... Até Shakespeare já disse: "Feliz quem jovem foi na juventude!"
- Solte a minha mão!
Finalmente, os compradores, após prolongadas despedidas, beijam a mão da mulher do farmacêutico e, hesitantes, como que ponderando se não esqueceram alguma coisa, saem da farmácia.
E ela corre depressa para o quarto e senta-se junto da mesma janela. Ela vê como o doutor e o tenente, saindo da farmácia, preguiçosamente se afastam uns vinte passos, depois param e começam a cochichar entre si. Sobre o que será? Seu coração palpita, as fontes latejam, e por que - ela mesma não sabe... O coração bate com força, como se aqueles dois, cochichando lá fora, estivessem decidindo seu destino.
Uns cinco minutos depois, o doutor separa-se de Obtiossov e se afasta, ao passo que Obtiossov volta. Ele passa pela farmácia uma vez, outra... Ora se detém perto da porta, ora recomeça a caminhar... Finalmente, cautelosa, tilinta a campainha.
- O que foi? Quem está aí? - Ouve ela de repente a voz do marido. - Estão tocando lá fora, e você não escuta! - diz o farmacêutico, severo. - Que desordem!
Ele se levanta, veste o roupão, e, cambaleando meio adormecido, arrastando os chinelos, vai para a farmácia.
- O que... deseja? Pergunta ele a Obtiossiov.
- Dê-me... dê-me quinze copeques de pastilhas de hortelã.
Com infinito resfolegar, bocejando, adormecendo em pé e batendo com os joelhos no balcão, o farmacêutico escala a prateleira e alcança o pote.
Dois minutos depois, a mulher do farmacêutico vê Obtiossov sair da farmácia e, depois de alguns passos, jogar as pastilhas de hortelã na estrada poeirenta. Detrás da esquina, ao seu encontro, vem o doutor... Os dois se juntam e, gesticulando, desaparecem na névoa matinal.
- Como sou desgraçada! - diz a mulher do farmacêutico, olhando com raiva para o marido, que se despe apressado para voltar a dormir. Oh! Como sou desgraçada! - repete ela, debulhando-se, de repente, em lágrimas. - E ninguém, ninguém compreende...
- Esqueci quinze copeques sobre o balcão - balbucia o farmacêutico, puxando o cobertor. - Guarde, por favor, na gaveta.
E adormece imediatamente.
Anton Tchekhov
No Mar da Criméia
As trevas tornam-se cada vez mais densas. A noite desce. Gusief, antigo soldado, agora em baixa definitiva, incorpora-se à sua rede e diz baixinho:
- Escuta, Pavel Ivanytch: um soldado me contou que o barco dele chocou-se, no Mar da China, com um peixe que era do tamanho de uma montanha. Será verdade?
Pavel Ivanytch permanece calado, como se não tivesse ouvido nada.
O silêncio volta a reinar. O vento zune por entre as enxárcias. As máquinas, as ondas e as redes produzem monótono ruído. Mas quem tem o ouvido habituado há já muito tempo, quase não percebe dir-se-ia, mesmo, que tudo ao redor está mergulhado em profundo sono.
O tédio gravita sobre os passageiros que se encontram na enfermaria. Dois soldados e um marinheiro voltam doentes da guerra. Passaram o dia inteiro jogando e agora, cansados, deitam-se e dormem.
O mar torna-se um tanto agitado. A rede na qual Gusief está deitado ora sobe, ora desce, lentamente, como um peito arquejante. Algo fez ruído ao cair ao solo; talvez uma caneca.
- O vento partiu as suas correntes e está a correr mar - diz Gusief prestando atenção aos rumores que vêm do convés.
Desta vez, Pavel Ivanytch tosse e exclama com voz irritada:
- Meu Deus! Que idiota que você é! Quando não se põe a dizer que um barco se despedaçou de encontro a um peixe, diz que o vento partiu as correntes, como se fosse uma de carne e osso...
- Não sou eu quem diz isso, são as pessoas de bem.
- São todos uns ignorantes como você. É preciso saber ter a cabeça no lugar e não acreditar em todas as bobagens que se contam pelo mundo. É preciso reflectir bem, antes de aceitar uma ideia alheia.
Pavel Ivanytch é sensível ao enjoo. Quando o navio começa a jogar, fica de mau humor e por qualquer coisa se irrita. Gusief não compreende por que o vizinho de enfermaria se enerva tanto. Não há nada de extraordinário no facto de um barco se despedaçar de encontro a um peixe, havendo, como há, peixes maiores do que montanhas e de pele mais dura que o gelo. É muito natural, também, que o vento rompa as suas cadeias. Há muito tempo contaram a Gusief que lá longe, no fim do mundo, há enormes muralhas de pedra, às quais estão presos os ventos; às vezes eles partem as correntes e lançam-se através dos mares, uivando como cães loucos. Por outra parte, se não fosse verdade que estão acorrentados, onde se escondem quando o mar está calmo?
Gusief fica a pensar longamente nos peixes do tamanho de montanhas, e nas pesadas cadeias recobertas de ferrugem. Depois aborrece-se disso e passa a pensar na sua aldeia, para onde agora regressa depois de cinco anos de serviço no Extremo Oriente. Sua imaginação evoca um vasto dique, recoberto de gelo e de neve. Numa das suas margens ergue-se uma fábrica de louças, construída com tijolos vermelhos, de cuja alta chaminé saem negros rolos de fumaça. Na margem oposta estão espalhadas as casas da aldeia.
Gusief imagina que está vendo sua casa. Seu irmão Alexey, que na sua ausência se tornou o chefe da família, sai do pátio num trenó, acompanhado de seus dois filhos, Vânia e Akulka, ambos com grossas botas; Alexey está um tanto bêbedo. Vânia ri, Akulka traz um xale que quase lhe oculta o rosto.
- Pobres crianças, que frio devem sentir! - pensa Gusief. - Virgem Santa, protegei os coitadinhos!
O marinheiro estendido ao lado de Gusief tem o sono muito agitado e começa a sonhar em voz alta.
- É preciso mandar pôr meia-sola nas botas - exclama. - Se não é melhor jogá-las fora.
A aldeia natal desaparece da mente de Gusief, seus pensamentos tornam-se desconexos. Vê a seguir uma enorme cabeça de boi, sem olhos; trenós, cavalos envoltos num espesso halo... Recorda, porém, embora vagamente, ter visto os seus, e isso lhe provoca uma alegria tão intensa que ele estremece da cabeça aos pés.
- Vi a minha gente! Vi a minha gente! - murmura sonhando, com os olhos bem fechados.
No mesmo instante acorda bruscamente, abre os olhos e pede um copo de água. Depois de beber, torna a deitar-se e os sonhos retornam.
E assim até raiar o sol.
A escuridão vai diminuindo e a cabina ilumina-se. A princípio vê-se um círculo azul; é a escotilha. Logo Gusief começa a distinguir o vizinho de maca, Pavel Ivanytch, o qual dorme sentado porque estendido sufocaria. Tem o semblante acinzentado, o nariz pontiagudo e os olhos muito aumentados pela horrenda magreza, vincadas as frontes, melenas longas... Pelo aspecto não se lhe adivinharia a categoria: intelectual, negociante ou clérigo? Pelas linhas do semblante e pela guedelha, parece um noviço de qualquer convento; porém, quando fala, verifica-se que não é frade. Aniquilado pela tosse, pelo calor e pela doença, respira a muito custo e para falar precisa fazer grande esforço. Notando que Gusief o observa, volve a cabeça e diz:
- Começo a compreender... Agora, sim, compreendo tudo, perfeitamente bem!
- Como, Pavel Ivanytch?
- Olhe... Parecia-me estranho que vocês, tão doentes, estivessem aqui, num barco em terríveis condições higiénicas, respirando numa atmosfera impura, exposto ao enjoo, ameaçados a todo momento pela morte. Agora já não estranho isso. É uma peça de mau gosto que os médicos vos pregaram. Meteram vocês neste barco para se livrarem de vocês. Estavam fartos de vocês. Além disso, não lhes interessa tratar de doentes dessa laia, pois vocês não pagam. E não queriam que morressem no hospital, pois isso sempre causa má impressão. Para se desembaraçarem de vocês, bastava, em primeiro lugar, não possuir consciência nem sentir amor à humanidade; depois, é só enganar o comandante do navio. Quanto ao primeiro ponto, nem é preciso falar; somos, a esse respeito, artistas; e, com alguma prática, o segundo dá sempre bom resultado. Ninguém nota a falta de quatro ou cinco doentes entre quatrocentos soldados e marinheiros em perfeita saúde. Embarcados, vocês são postos no meio dos saudáveis; contados apressadamente e na confusão da partida, nada se vê de anormal. Inicia-se a viagem, percebem, como é natural, que todos vocês são paralíticos e tuberculosos de último grau, a se arrastarem....
Gusief não compreende Pavel Ivanytch. Supondo que Pavel está desgostoso com ele, diz para desculpar-se:
- Não tenho culpa. Deixei que me embarcassem alegrando-me muito pelo facto de poder voltar para casa.
- Oh! É revoltante - continuou Pavel Ivanytch. - Principalmente porque eles bem sabem que vocês não podem suportar esta longa travessia. Admitamos que vocês cheguem até ao Oceano Índico. E depois?... É terrível pensar nisso!... Eis a recompensa de cinco anos de fiel e irrepreensível serviço!
Pavel Ivanytch, com expressão de ira e voz sufocada, diz:
- Os jornais deveriam contar essas sujeiras! Seria uma boa lição para esses canalhas!
Os dois soldados e o marinheiro doente acordaram e puseram-se a jogar baralho.
O marinheiro está meio sentado na maca; os soldados, perto dele, sobre a ponta, em posição incómoda. Um tem o braço enfaixado e o pulso envolto num verdadeiro monte de compressas, de tal maneira que se vale da flexão de cotovelo para segurar as cartas.
O barco balança violentamente, o que impede que a gente se levante para tomar chá.
- Você era ordenança? - pergunta Pavel Ivanytch a Gusief.
- Justamente.
- Meu Deus! Meu Deus! - levanta-se Pavel Ivanytch. - Arrancar um homem do seu ninho, obrigá-lo a fazer quinze mil verstas e apanhar a tuberculose, para... para que pergunto-lhes eu?... Para dele fazer a ordenança do capitão Kopeikine ou de um porta-bandeira Durka... Haverá lógica nisso?
- O trabalho não é difícil, Pavel Ivanytch. É só levantar cedo, engraxar as botas, arrumar os quartos, e nada mais. O meu oficial ficava a traçar projectos o dia todo, eu podia dispor do meu tempo, podia ler, passear, conversar com os amigos. Francamente, não posso queixar-me.
- Sim, de facto; o tenente esboçava plantas e você ficava a se aborrecer a quinze mil verstas da sua terra, desperdiçando os melhores anos da sua vida. Traçar plantas!... Não se trata de plantas mas da vida humana, meu caro. E o homem só tem uma vida; devemos poupá-la.
- Realmente, é verdade, Pavel Ivanytch - continua Gusief que mal entende o raciocínio do vizinho. - Um pobre diabo não é bem tratado em parte alguma, nem em casa, nem no serviço. Mas se a gente cumpre sua obrigação, como eu, não tem nada a temer, que necessidade haverá de maltratá-los? Os chefes são pessoas instruídas e compreendem as coisas... Eu, em cinco anos, nunca estive preso e, quanto a ser espancado... não o fui - se Deus não me tolhe a memória - senão uma vez...
- E por quê?
- Por uma rixa. Tenho a mão pesada, Pavel Ivanytch. Quatro chineses, se bem me lembro, entraram no pátio da casa. Acho que procuravam trabalho. Pois bem, para passar o tempo comecei a dar neles. O nariz de um dos réprobos sangrou... O tenente, que tudo vira da janela, me deu uma boa lição.
- Meu Deus! Que imbecil que você é! - murmura Pavel Ivanytch. - Você não compreende nada!
Completamente aniquilado pelo balanço do barco, ele fecha os olhos. A cabeça ora se lhe inclina para trás, ora sobre o peito. Tosse cada vez mais. Depois de curta pausa, diz:
- Por que é que você espancou aqueles coitados?
- À toa. Estava muito aborrecido.
Reina de novo o silêncio. Os dois soldados e o marinheiro passam horas e horas a jogar, por entre blasfémias e insultos. Mas as oscilações acabam por fatigá-los. Acabam a partida e deitam-se. Mal fecha os olhos, Gusief revê o grande lago, a fábrica, a aldeia... sua aldeia, com seu irmão e seus sobrinhos. Vânia recomeça a rir e a tola da Akulka, pondo as pernas fora do trenó, exclama: "Olhe, ó gente, as minhas botas são novinhas e não como as de Vânia!"
- Ela vai para os seis anos - delira Gusief - e ainda não tem juízo. Em vez de mostrar as botas, devia trazer água para o tio soldado! Depois, dar-lhe-ei bombons.
Depois avista seu amigo Andron, pederneira a tiracolo. Carrega uma lebre que matou. Issaitchik, judeu, segue-o a propor-lhe a troca da lebre por um pedaço de sabão. Ali, à porta da cabana, há uma novilha negra. Eis que surge Domna, sua mulher, que costura uma camisa e chora. Por que chora ela?... E eis, de novo, a cabeça de boi sem olhos e a fumaça preta.
Adormece, mas um ruído no tombadilho o desperta. Alguém, lá em cima, está a gritar; acorrem diversos marinheiros. Parece que alguma coisa enorme e pesada foi levada à ponte ou, então, aconteceu qualquer coisa inesperada. Acorrem mais homens... Terá sucedido alguma desgraça?! Gusief ergue a cabeça, espreita e vê que os dois soldados e o marinheiro recomeçaram o jogo. Pavel Ivanytch, sentado, move os lábios como se quisesse falar; mas não diz nada. Todos ofegam, sufocam, têm sede; o calor continua. Gusief tem a garganta a arder, mas a água morna causa-lhe repugnância. E o barco continua a dançar.
De repente, algo de anormal acontece a um dos soldados que jogam. Ele confunde o naipe de copas com o de ouros, erra na conta e deixa cair as cartas. Depois, olha em torno de si com um sorriso hediondamente alvar.
- Voltarei logo, camaradas... Esperem... eu... eu... - e estende-se no pavimento.
Os companheiros interrogam-no, estupefactos; ele não responde.
- Stepan! Sente-se mal? - pergunta-lhe o soldado do braço ferido. - Hein? Quer que chame o padre, sim?
- Stepan, beba água, beba, camarada, beba! - diz-lhe o marinheiro.
- Mas por que você lhe empurra a caneca à boca? - exclama Gusief, irritado. - Não vês, então, seu idiota?...
- Como?...
- "Como?.." - repeteGusief arremedando; - ele já não respira... está morto. E ainda perguntas: "Como?" Que idiota, meu Deus!
Cessa o balanço. Pavel Ivanytch está de novo alegre, não se irrita mais por qualquer coisa. Tornou-se até fanfarrão, escarnecedor. Tem o ar de quem deseja contar uma história tão engraçada que provoque dor de barriga.
Pela escotilha aberto, uma brisa suave passa sobre Pavel Ivanytch. Ouvem-se vozes; os remos ferem a água compassadamente... Sob a escotilha, alguém regouga; talvez um chinês que se tenha aproximado num bote.
- Sim - diz Pavel Ivanytch, sorrindo zombeteiro - eis-nos no ancoradouro. Um mês mais, e estaremos na Rússia. Sim, cavalheiros, estamos chegando. Os soldados são muito acatados, sim senhor. Chegando em Odessa, seguirei para Carcov, onde tenho um amigo escritor a quem direi: "Vamos, amigo, deixa pôr um minuto os teus escabrosos temas relacionados com mulheres e com amor; deixa de cantar as belezas da natureza e procura divulgar as sujeiras dos seres de duas patas. Trago-te esplêndidos temas..."
Depois de ter pensado um minuto em qualquer coisa, torna:
- Gusief, você sabe como os enganei?
- A quem?
- Aos que mandam no navio... Compreende? Na embarcação não há senão duas classes: a primeira e a terceira. De terceira só viajam os mujiks, também chamados broncos. Se você tiver um jaquetão e um certo ar de cavalheiro ou de burguês, é obrigado a viajar de primeira. Dir-lhe-ão: " Arranje-se como puder, mas deve pagar quinhentos rublos". "Qual a razão desse regulamento? Quererá o senhor elevar com isso o prestígio dos intelectuais russos?" "Absolutamente, não. Não lhe permitimos viajar de terceira pelo simples motivo de que não convém às pessoas distintas; passa-se bem mal e é repugnante". "Muito agradecido, prezado senhor, pela sua solicitude para com as pessoas distintas! Mas, como quer que seja, não disponho de quinhentos rublos. Não fiz negócios obscuros, não roubei o Estado, não exerci contrabando, não fiz morrer ninguém sob o açoite. Como posso ser rico? Ora, pense bem. Tenho eu o direito de me estabelecer na primeira classe e, sobretudo, insinuar-me entre os intelectuais russos?" - Dado, porém que não é possível vencê-los pelo raciocínio, recorre-se a um ardil. Visto o capote e calço as botas altas; tomando um ar de bêbedo dirijo-me ao bilheteiro:
- Excelência, desejo uma passagem de terceira e que Deus o abençoe.
- Qual é a sua profissão? - pergunta-me o funcionário.
- Sou do clero. Meu pai foi um "pope" honesto. Muito sofreu por dizer sempre a verdade aos poderosos deste mundo. Eu também sempre digo a verdade...
Pavel Ivanytch cansa-se de falar; respira com dificuldade. Mas prossegue:
- Sim, sempre digo a verdade às claras... Não temo coisa alguma nem ninguém. Nesse ponto, há entre mim e vocês considerável diferença. Vocês não enxergam nada. Ignorantes, cegos, esmaga-os o peso da própria inferioridade. Acreditam que o vento está amarrado com correntes e outros disparates. Vocês beijam a mão que vos fere. Um espertalhão qualquer, vestido de peliça, rouba tudo que vocês têm e depois vos atira quinze kopeks de gorjeta, e vocês dizem: - "Dê-me, Excelência, a honra de lhe beijar a mão". Párias, asquerosos... Quanto a mim, sou bem diferente. Levo uma vida consciente. Vejo tudo, como a águia ou o abutre que se eleva muito acima da terra. Compreendo tudo. Sou a encarnação do protesto. Protesto contra o arbitrário, contra o beato hipócrita, contra os suínos triunfantes. E sou indomável. Nem mesmo a Inquisição espanhola me obrigaria a calar. Sim... Se me arrancassem a língua, minha mímica protestaria. Lancem-me num cubículo, tranquem a porta: bradarei tão fortemente, que serei ouvido a uma versta de distância; ou então, me deixarei morrer de fome para que a lôbrega consciência dos carrascos sinta um peso a mais. Todos os conhecidos me dizem: - "Pavel Ivanytch, na verdade você é insuportável!" Mas eu me orgulho dessa reputação. Enfim, que me matem! Minha sombra voltará aterradoramente. Prestei três anos de serviço no Extremo Oriente, e lá deixei uma reputação para cem, porque me incompatibilizei com todo mundo. Os amigos escrevem-me: "Não apareça!", pois conhecem meu carácter belicoso. E eu embarco! e volto a despeito dos seus avisos!... Sim, essa é a vida que eu compreendo. Isso sim é que se pode chamar a vida.
Gusief deixa de escutar e olha através da escotilha. Uma canoa oscila sobre a água transparente, cor de turquesa pálida, banhada em cheio pelo sol deslumbrante e abrasador. Nela, de pé e nus, alguns chineses oferecem gaiolas de canários e gritam:
- Canta bem! Canta muito bem!
Outra canoa bate contra a primeira: passa uma embarcaçãozinha a vapor. E eis ainda outra canoa, em que se vê um gordo chinês, que come arroz com pauzinhos. A água gorgulha preguiçosamente; há gaivotas brancas voando com indolência.
- Oh! aquele gorducho... - pensa Gusief. - Seria gozado dar uns sopapos nesse animal de cara amarela.
Dormindo em pé, aparece-lhe que toda a natureza cabeceia com sono. O tempo corre veloz. O dia se escoa sem que se dê pôr isso e do mesmo modo a noite vem chegando...
O barco desamarrou e prossegue para destino ignorado.
Passaram-se os dias. Pavel Ivanytch já não está sentado, mas curvado. Tem os olhos fechados e o nariz afinou-se ainda mais.
- Pavel Ivanytch! - grita-lhe Gusief. - Ouviu, Pavel Ivanytch?
- Como é? Isso vai ou não vai?
- Assim, assim... - responde Pavel Ivanytch, arquejante. - Ao contrário, vai até melhor... Olhe, passo até deitado... A coisa vai melhorando.
- Então, que Deus seja louvado!
- Sim, estou melhor. Quando me comparo a vocês, sinto compaixão...Tenho os pulmões fortes; a tosse me vem do estômago... Sou capaz de suportar o inferno. Por que falar no mar Vermelho? Além do mais, considera a minha doença e os remédios do ponto de vista crítico... e vocês são uns pobres diabos... É terrível para vocês... muito... terrível. Tenho verdadeira pena de vocês.
As ondas já não fazem o barco jogar, mas a atmosfera é cálida e pesada como um barco a vapor. Gusief apoia a cabeça nos joelhos e põe-se a pensar na sua aldeia. Com o calor que faz, é um prazer pensar na aldeia, completamente coberta de neve nesta época do ano. Sonha que está passeando de "troika" através dos campos gelados. Os cavalos espantados sem motivo, correm como loucos e atravessam o dique num único salto. Os camponeses procuram detê-los, mas Gusief pouco se importa. Sente-se possuído por intensa alegria. É com prazer que recebe no rosto e nas mãos a glacial carícia do vento, e a neve a lhe cair pelo cabelo, pelo pescoço e pelo peito o inunda de felicidade.
Não se sente menos contente quando, em dado momento, o carro vira, atirando-o na neve. Levanta-se satisfeito, coberto de neve da cabeça aos pés, e fica a se sacudir entre gostosas gargalhadas. Ao redor, os camponeses também soltam risadas e os cachorros, nervosos, ladram. Realmente formidável.
Pavel Ivanytch entreabre um olho, fita Gusief e pergunta:
- Teu oficial roubava?
- Não sei Pavel Ivanytch. Essas coisas não são de nossa conta.
Volta a reinar profundo silêncio. Gusief mergulhou de novo nos seus sonhos. De quando em quando toma um pouco de água. O calor é tão forte que ele não tem vontade nenhuma de falar nem de ouvir, e teme que a qualquer momento alguém lhe dirija a palavra.
Uma, duas horas transcorrem. À tarde sucede a noite; mas Gusief parece não ter notado nada; continua na mesma posição, a fronte nos joelhos, a pensar na sua aldeia, no frio, na neve.
Ouvem-se passos, vozes. Ao cabo de cinco minutos tudo volta a cair no silêncio.
- Que a terra lhe seja leve! - murmura o soldado do braço ferido. - Era um homem que deixava a gente nervoso.
- Quem? - pergunta Gusief esfregando os olhos. - De quem é que estás falando?
- Ora, de quem? De Pavel Ivanytch! Morreu. Levaram-no para cima.
- Como? - murmura Gusief como se não compreendesse. Fica longo tempo a meditar e por fim, com um suspiro, diz: - Então tudo se acabou! Que Deus o perdoe!
- O que é que você acha? - pergunta o soldado. - Você acha que ele será admitido no Paraíso?
- Ele quem?
- Pavel Ivanytch, homem!
- Ah!... Creio que sim. Sofreu muito. Além disso, era do clero. Seu pai era "pope" e rogará a Deus pelo filho.
O soldado senta-se na cama de Gusief e olhando-o fixamente, diz em voz baixa:
- Também você, Gusief, não há de viver muito. Não voltará a ver a sua terra.
- Quem disse isso!? O médico? O enfermeiro?
- Ninguém, mas a gente vê logo. Percebe-se muito bem quando uma pessoa está para morrer. Você não come, emagrece dia a dia... causa medo. Enfim, é a tuberculose. Não digo isso para o assustar, mas apenas no seu próprio interesse. Deveria receber os Sacramentos... Além disso, se você tem dinheiro deve deixá-lo com o comissário do navio...
- Nem escrevi para minha gente - suspira Gusief. - Morrerei e eles não saberão de nada.
- Como não saberão? Quando você morrer eles escreverão para as autoridades militares de Odessa que, por sua vez, avisarão sua família.
Gusief está profundamente perturbado. Vagos desejos o afligem. Toma um pouco de água, volta a perscrutar o mar através da escotilha, porém nada consegue acalmá-lo. Nem mesmo a lembrança da aldeia consegue, agora, tranquilizá-lo. Tem a impressão de que se permanecer mais um minuto na enfermaria cairá sufocado.
- Estou muito mal, meus irmãos - diz baixinho. - Não posso continuar aqui... Quero ir lá para cima. Quem quer ajudar-me?
- Bom - diz o soldado. - Vou acompanhá-lo, já que não pode ir só. Apoie-se no meu ombro.
Gusief obedece. O soldado segura-o com a sua mão sã e ambos sobem vagarosamente a escada que conduz ao convés.
Em cima, o tombadilho está cheio de marinheiros e de soldados deitados no chão. São tantos que é difícil abrir caminho.
- Sente-se - diz o soldado. - Eu o seguro.
Não se vê muito bem. Não há luz no tombadilho, nem nos mastros, nem no mar. Uma sentinela, de pé na extremidade do navio, está tão imóvel que parece adormecida. Dir-se-ia que o barco se encontra abandonado ao seu próprio destino e que ninguém se importa em lhe dar um rumo.
- Vão atirar Pavel Ivanytch ao mar - murmura o soldado. - Vão costurá-lo num saco e atirá-lo às ondas.
- Sim - responde Gusief suavemente. - É do regulamento.
- É melhor morrer em terra. De vez em quando a mãe da gente vem chorar junto ao túmulo, ao passo que aqui...
- Sim, eu também preferiria morrer na minha casa, na aldeia...
Penosamente, os dois se erguem e começam a andar. Em certo trecho sente-se pronunciado cheiro de forragem e de esterco: vem de um curral improvisado no tombadilho, onde se encontram oito vacas. Um pouco mais adiante, há um potro amarrado. Gusief estende a mão para acariciá-lo, mas o cavalo sacode furiosamente a cabeça e mostra os dentes, com eloquente intenção de mordê-lo.
- Bicho do inferno! - protesta Gusief.
Ele e o soldado apoiam-se na balaustrada e ficam a olhar em silêncio ora o mar, ora o céu. Sob a abóbada celeste, calma e muda, reinam a inquietação e as trevas. As ondas se entrechocam ruidosamente. Cada uma procura erguer-se mais do que a outra e se atropelam, e se empurram, furiosas e disformes, coroadas de branca espuma.
O mar é impiedoso. Se o navio não fosse tão grande e tão sólido, as ondas o destroçariam sem piedade, tragando cruelmente todos quantos viajam nele, sem distinguir os bons dos maus. O próprio barco não é menos cruel. Semelhando um estranho monstro, corta com a quilha milhões de ondas. Não teme nem a noite, nem o vento, nem o espaço infinito, nem a solidão. Se a superfície do mar estivesse cheia de seres humanos, cortá-los-ia da mesma maneira, sem tampouco, fazer distinção entre os bons e justos e os pecadores.
- Onde estamos agora? - pergunta Gusief.
- Não sei. Acho que no oceano.
- Não se vê terra...
- Que dúvida! Antes de oito dias não veremos nem sombra de terra!
Ambos continuam perscrutando a espuma branca e fosforescente, mergulhados no mais completo silêncio. Cada um parece perdido em remotos pensamentos. Gusief é o primeiro a falar:
- Eu não tenho medo do mar. É lógico que, de noite, a gente não vê bem. Mas mesmo assim, se agora me mandassem, num bote a pescar a cem quilómetros daqui, iria com muito gosto. ou, se por exemplo, tivesse que salvar alguém que tivesse caído na água, eu me atiraria sem vacilar. Isto é, caso se tratasse de um cristão. É claro que eu não arriscaria a vida por um turco ou por um chinês.
- Não tem medo da morte?
- Tenho sim, principalmente quando penso na minha casa. Sem a minha presença tudo irá por água abaixo. Meu irmão é uma verdadeira calamidade, um beberrão que bate na mulher todo o santo dia e não respeita os pais. Sim, sem mim tudo irá mal. Minha gente ver-se-á obrigada, talvez, a pedir esmolas para não morrer de fome.
Cala-se por alguns instantes e por fim conclui:
- Vamos para baixo. Não posso mais suster-me em pé. Além disso, a atmosfera está muito pesada... Já é hora de dormir.
Gusief desce para a enfermaria e deita-se. Vagos desejos, cuja natureza não pode precisar, continuam a atormentá-lo. Sente um peso no peito; dói-lhe a cabeça. Sua boca está seca que sente dificuldade em mover a língua. Cai em profunda sonolência e logo depois, esgotado pelo calor e pela atmosfera carregada, adormece. Os mais fantásticos sonhos voltam a repetir-se.
Dorme, assim, dois dias seguidos. Ao cair da tarde do terceiro, os marinheiros vêm buscá-lo e levam-no para o convés.
Costuram-no num saco, no qual introduzem, também, para torná-lo mais pesado, dois enormes pedaços de ferro. Metido no saco Gusief parece uma cenoura: volumoso na cabeça e afinado nas pernas.
Ao pôr do sol colocam o cadáver sobre uma prancha que tem uma das extremidades apoiada na balaustrada e a outra num caixão de madeira. Ao redor enfileiram-se os soldados e os marinheiros todos de gorro na mão.
- Bendito seja Deus todo-poderoso pelos séculos dos séculos - diz com tom solene o sacerdote.
- Ámen! - respondem os marinheiros.
Todos fazem o sinal-da-cruz e ficam a olhar as ondas. É algo estranho ver um homem metido num saco e a ponto de ser lançado ao mar. No entanto, é uma coisa que pode suceder a qualquer um de nós!
O sacerdote deixa cair um pouco de terra sobre Gusief e faz profunda reverência. A seguir, canta-se o Ofício.
O oficial de plantão soergue um dos extremos da prancha. Gusief desliza de cabeça para baixo, dá uma volta no ar e cai na água. Por alguns instantes fica a boiar, coberto de espuma, como se estivesse envolto em rendas; por fim, desaparece.
Submerge rapidamente. Chegará ao fundo? Segundo os marinheiros, a profundidade do mar nestas paragens alcança quatro quilómetros.
Após fazer vinte metros, começa a descer mais lentamente. O cadáver vacila, como se hesitasse em continuar a viagem. Finalmente, arrastado pela corrente, prossegue a marcha diagunalmente.
Não demora em tropeçar com um cardume de peixinhos - dos chamados "pilotos", os quais, ao divisarem o enorme vulto, estacam assombrados e, como se obedecessem a uma ordem, voltam-se, todos ao mesmo tempo e, como minúsculas flechas, atiram-se a Gusief.
Minutos depois aproxima-se uma enorme massa escura: um tubarão. Lentamente, com fleuma, como se não notasse a presença de Gusief, coloca-se sob o saco de maneira a dar a impressão de que o cadáver está de pé sobre o seu ombro. Visivelmente satisfeito, o tubarão dá, depois várias voltas na água e, sem se apressar, escancara a enorme boca, armada de duas fileiras de dentes. Os "pilotos" estão encantados. Mantêm-se um pouco afastados e admiram o espectáculo atentamente.
Depois de brincar um pouco com o corpo de Gusief, o tubarão crava os dentes de mansinho, no tecido da mortalha, a qual no mesmo instante abre-se de cima a baixo. Um pedaço de ferro tomba no lombo do tubarão, assusta os "pilotos" e desce rapidamente.
Enquanto isso, lá no alto, no céu, onde o sol pouco a pouco se oculta, as nuvens vão-se acumulando. Uma delas parece um arco-do-triunfo, outra um leão; outra ainda uma tesoura. Através de uma das nuvens projecta-se até ao centro da abóbada do céu um amplo raio verde. Ao lado dele surge, pouco a pouco, um colorido de lilás bem pálido. Sob este esplêndido céu, o oceano torna-se a princípio obscuro; logo, porém, passa, por sua vez, a tingir-se de cores tão suaves, alegres e belas que a língua humana é incapaz de descrevê-las.
Anton Tchekhov
Um caso médico
Um telegrama enviado da fábrica dos Lialikov pedia ao professor que viesse o mais depressa possível.
A filha da Senhora Lialikov, que devia ser a proprietária da fábrica, estava doente; era tudo o que se podia perceber num longo telegrama mal redigido. Por isso o professor não esteve para se incomodar; contentou-se em enviar, para o substituir, o seu ajudante Koroliov.
Tinha que se descer na terceira estação para lá de Moscovo e andar em seguida, de carro, quatro verstas. Na estação, esperava o ajudante num carro de três cavalos. O cocheiro tinha um chapéu de penas de pavão e, com voz vibrante, como um soldado, respondia sempre a todas as perguntas: "De modo algum!" ou "Exactamente!".
Era num sábado de tarde. Punha-se o Sol. Da fábrica para a estação vinham grupos de operários que cumprimentavam para o carro onde seguia o médico. Aquele fim de dia, os palacetes senhoriais e as casas de verão, dos dois lados da estrada, os amieiros, a calma impressão que de tudo se exalava, na hora em que, já quase a repousarem, os campos, os bosques e o Sol pareciam preparar-se para descansar e talvez até para rezar ao mesmo tempo que os operários - tudo isto encantava Koroliov.
Nascido e educado em Moscovo, o médico não conhecia o campo e nunca se tinha interessado pelas fábricas; nunca tinha visitado nenhuma; mas, depois do que tinha lido sobre este assunto, tinha-lhe acontecido estar em casa de proprietários e falar com eles. E, quando via de longe ou de perto uma fábrica, pensava que por fora tudo parecia calmo e pacífico, mas que lá dentro deviam reinar a impenetrável ignorância e o egoísmo obtuso dos proprietários, o trabalho aborrecido e insalubre dos operários, e as intrigas, e o vodka e a malta...
E agora, à medida que se afastavam do carro com respeito e medo, lia no rosto do operário, nos bonés, no andar, a porcaria, o alcoolismo, o enervamento, o atordoamento em que viviam.
Entrou pelo portão grande da fábrica. Apareceram de ambos os lados as pequenas casas dos operários, figuras de mulher, e, às cancelas da entrada, roupa branca e mantas. O cocheiro, sem segurar os cavalos, gritava: "Cuidado!".
Num pátio grande, sem o mínimo sinal de erva, levantavam-se cinco grandes corpos de edifícios com altas chaminés, afastados uns dos outros, com armazéns e alpendres, tudo mergulhado numa espécie de neblina cinzenta, como uma flor de poeira. Aqui e além, como os oásis no deserto, havia uns pequeninos jardins enfezados e os telhados verdes e vermelhos das casas da Administração. O cocheiro, sofreando de repente os cavalos, parou diante duma casa que fora há pouco pintada de cinzento. Os lilases do jardim estavam cobertos de poeira, e o pórtico, pintado de amarelo, cheirava fortemente a tinta.
- Faça o favor de entrar, Senhor Doutor - disseram vozes de mulher à porta da entrada e no limiar da antecâmara.
Ouviram-se depois suspiros e murmúrios.
- Faça favor de entrar... Estamos à sua espera já há tanto tempo... Foi mesmo uma desgraça. Por aqui, por favor...
A Senhora Lialikov, já de idade e corpulenta, vestida de seda negra e com mangas à moda, mas, pelo que parecia, simples e pouco instruída, olhava para o doutor com receio, sem se atrever a estender-lhe a mão; não ousava fazê-lo.
Perto dela, encontrava-se uma criatura de cabelos curtos, magra e já nada nova, que trazia uma blusa colorida e usava luneta. Os criados chamavam-lhe Cristina Dmitrievna e Koroliov adivinhou ser a governante.
Como era a única pessoa instruída da casa, tinham-na sem dúvida encarregado de receber o médico, porque logo se apressou a expor, com pormenores de todo inúteis, as causas da doença, mas sem dizer quem estava doente nem de que se tratava. Koroliov e a governante falavam sentados, enquanto a dona da casa esperava, Imóvel, junto da porta. No decurso da conversação, veio Koroliov a saber que a doente era uma rapariga de vinte anos, Lisa, filha única da Senhora Lialikov. Estava enferma há muito tempo e já a tinham tratado vários médicos. Na noite anterior, sentira, desde a tarde, tais palpitações que ninguém em casa tinha dormido; chegara-se a recear que morresse.
- Ela, na verdade, tem sido doentinha desde criança - contava Cristina Dmitrievna com uma voz cantada e limpando ininterruptamente os lábios com a mão. - Os médicos dizem que são nervos, mas ainda em pequena meteram-lhe para dentro os humores frios, e daí é que vem todo o mal, acho eu.
Passaram ao quarto da doente. Já mulher, alta, bem feita, mas feia, parecida com a mãe, com os mesmos olhinhos e a parte inferior do rosto larga e exageradamente desenvolvida, despenteada, os cobertores puxados até ao queixo, a rapariga deu de princípio a Koroliov a impressão de uma pobre criatura, enferma, recolhida por piedade. Ninguém acreditaria que fosse a herdeira dos cinco enormes edifícios da fábrica.
- Venho tratar de si - disse Koroliov. - Bom dia, Menina.
Disse o nome e apertou-lhe a mão, mão grande, feia e fria. Ela soergueu-se e, já muito acostumada aos médicos, indiferente à nudez das espáduas e dos braços, deixou-se auscultar.
- Sinto umas palpitações - disse ela. - Toda a noite... foi uma coisa terrível... Pensei que morria de medo. Dê-me qualquer coisa, a ver se isto acaba.
- Não tenha receio, vou já receitar.
Koroliov examinou-a e encolheu os ombros.
- O coração está bom - disse ele - tudo vai bem, está tudo em ordem. Os nervos talvez um pouco abalados... mas é também coisa comum. A crise já passou, parece. Deite-se e veja se dorme...
Neste momento trouxeram um candeeiro. A doente piscou os olhos e, de repente, pousando a cabeça nas mãos, pôs-se a chorar.
E a impressão dum ser infeliz e feio desapareceu. Koroliov já não dava pelos olhos pequeninos nem pela parte do rosto anormalmente desenvolvida. Via uma suave expressão de sofrimento, muito comovedora e espiritual, e a moça, no conjunto, apareceu-lhe elegante, feminina e simples. E já a queria acalmar, não por medicamentos ou conselhos, mas por uma simples palavra graciosa. A mãe puxou a si a filha e beijou-lhe a testa. E na expressão da face, quanta tristeza, quanto desgosto!
Tinha criado e educado a filha sem se poupar a nada; tinha posto todo o cuidado em lhe mandar ensinar francês, música e dança. Tinha-lhe dado uma dúzia de mestres, tinha chamado os melhores médicos, tomado uma governanta - e não compreendia de onde vinham aquelas lágrimas e tantos sofrimentos! Não compreendia, atrapalhava-se e tinha uma expressão de culpabilidade; e andava desolada, inquieta, como se tivesse esquecido alguma coisa de muito urgente, como se tivesse tido alguma negligência, como se não tivesse chamado alguém. Quem? Não sabia...
- Lisaunka - disse ela, apertando a filha ao peito - minha querida, minha pomba, minha filhinha, que tens tu? Diz à mãezinha... Tem pena de mim... Diz...
Ambas choravam amargamente. Koroliov, sentando-se na borda da cama, pegou na mão de Lisa.
- Vamos, não chore mais - disse-lhe ele com um tom de carícia - Não há razão para isso... Não há nada no mundo que seja digno dessas lágrimas. Vá, não chore mais. Assim não pode ser...
E pensou:
- Já era tempo de a casar...
- O médico da fábrica dava-lhe brometos - disse a governante - mas notei que só lhe faziam mal. Eu acho que para o coração o bom são umas gotas... ai, esquece-me o nome... Junquilho, hem?
E recomeçou com os seus pormenores. Interrompia Koroliov, impedia-o de falar e lia-se-lhe no rosto o tormento que lhe causava pensar que, sendo a mulher mais instruída da casa, devia falar sem interrupção com o médico - e falar de medicina, claro.
Koroliov estava embaraçado.
- Não acho nada de especial - disse ele à mãe ao sair do quarto. - Como o médico da fábrica tratou sua filha, pode continuar. O tratamento que lhe deu até aqui foi bom; não vejo que seja preciso mudar. Para quê? É uma doença vulgar; não tem nada de grave...
Falava sem pressa e ia calçando as luvas; a Senhora Lialikov olhava-o de lágrimas nos olhos, imóvel.
- Ainda tenho meia hora até o comboio das dez; terei tempo de apanhá-lo, não...?
- O Senhor Doutor não desejaria ficar? - perguntou a mãe, e de novo as lágrimas lhe correram pela cara - Custa-me tanto incomodá-lo; mas, pelo amor de Deus - continuou, a meia voz e voltando-se para a porta - faça-me esse favor. Só tenho esta filha... Assustou-nos tanto a noite passada... Nem estou ainda em mim... Pelo amor de Deus, não se vá embora!
Koroliov ainda quis dizer que tinha muito que fazer em Moscovo, que a família estava à espera, que lhe era muito difícil passar uma tarde e uma noite fora da clínica; olhou para ela: suspirou e pôs-se a descalçar as luvas, silencioso.
Acenderam todas as velas e todos os candeeiros da sala e da saleta; sentado junto do piano de cauda, Koroliov folheou a música, depois foi contemplar os quadros e os retratos. Os quadros, com suas molduras douradas, eram vistas da Criméia, um mar encapelado com um barquinho, um monge católico com um cálice de licor - tudo pobre, lambido, sem talento... Nos retratos, nenhuma figura bela, interessante: faces largas, olhos espantados. Lialikov, o pai de Lisa, tinha a testa baixa e um ar satisfeito; o uniforme ficava-lhe como uma espécie de saco sobre o corpo grande e vulgar; no peito uma medalha e a insígnia da Cruz Vermelha. Cultura estreita, luxo de ocasião, um luxo que não tinha motivos nem vinha a propósito - como aquele uniforme. O brilho dos soalhos irrita, o lustre também; e pensa-se, nem se sabe porquê, na história do comerciante que ia tomar banho de medalha de honra ao pescoço... Na antecâmara havia murmúrios e alguém ressonava suavemente. De súbito, no pátio, ressoaram uns sons agudos, sacudidos, metálicos, que Koroliov nunca tinha ouvido e não soube explicar. Ecoaram na sua alma dum modo bem desagradável e estranho.
- Acho que não ficava aqui por nada deste mundo - pensou ele.
E tornou a folhear a música.
A governante entrou e chamou a meia voz:
- Senhor Doutor, pode vir jantar...?
Koroliov seguiu-a.
A mesa, grande, estava coberta de aperitivos e de vinhos; mas só havia duas pessoas: ele e Cristina Dmitrievna. Ela bebia um madeira, comia depressa e falava contemplando-o pela luneta.
- Os operários estão muito satisfeitos connosco. Todos os Invernos dão nesta fábrica espectáculos em que eles próprios representam. Há também, naturalmente, conferências com projecções, uma sala de chá magnífica; e tudo o mais... Têm muita dedicação por nós; quando souberam que a Lisaunka estava pior, mandaram fazer umas rezas. São pouco instruídos mas têm muito bons sentimentos.
- Parece que não há nenhum homem em casa, não?
- Nenhum. Piotre Nikanorytch morreu há ano e meio e ficamos sozinhas. Vivemos as três, no Verão aqui, no Inverno em Moscovo. Já estou nesta casa há onze anos. É como se estivesse em minha casa.
Serviram esturjão, croquetes de frango e uma compota. Os vinhos eram caros, vinhos franceses.
- Faça favor, Senhor Doutor... Não faça cerimónias... Coma - dizia Cristina Dmitrievna comendo e limpando a boca à mão (via-se que estava realmente à vontade). Faça favor de comer.
Depois do jantar, levou o médico a um quarto onde lhe tinham preparado uma cama. Mas não tinha sono; o quarto era quentíssimo e cheirava a tintas; vestiu o sobretudo e saiu.
Fora, havia fresco. Já havia um prenúncio de alvorada e, no ar húmido, desenhavam-se os cinco edifícios, com as chaminés, os barracões e os armazéns. Como era domingo, não se trabalhava; as janelas estavam escuras e só duas, num dos edifícios onde ainda estava aceso um forno, pareciam incendiadas; de quando em quando, saía lume pela chaminé, de mistura com a fumaça. Ao longe, para lá do pátio, coaxavam rãs e um rouxinol cantava.
Ao olhar os casarões da fábrica e as barracas dos operários, Koroliov voltou aos seus pensamentos do costume. Tinham-se instituído espectáculos para os operários, projecções, médicos privativos, toda a espécie de melhoramentos: mas os operários que ele vira de tarde, na estrada, em nada diferiam dos que tinha visto na sua infância, quando não havia para eles nem espectáculos, nem melhoramentos.
Era médico e tinha sido obrigado a fazer uma ideia exacta das doenças crónicas, cuja causa inicial é incompreensível e incurável; considerava do mesmo modo as fábricas como um equívoco cujas causas são também obscuras e inelutáveis. Todos os melhoramentos da sorte dos operários não lhe apareciam, claro, como supérfluos, mas comparava-os ao tratamento das doenças incuráveis.
- Há certamente um engano nesta coisa toda... - pensou olhando as janelas purpúreas. Mil e quinhentos ou dois mil operários trabalham sem descanso, num ambiente insalubre, para fabricarem péssima chita. Vivem na fome e só de tempos a tempos a taberna os liberta do pesadelo. Uma centena de pessoas vigia-lhes o trabalho e a vida destes contramestres passa-se a aplicar multas, a proferir injúrias e a cometer injustiças. E só duas ou três pessoas, chamadas patrões, aproveitam com os lucros, apesar de não trabalharem e de terem desprezo pela chita ordinária. Mas que lucros! E de que maneira os aproveitam! A Lialikov e a filha são umas infelizes e mete pena vê-las. Só a solteirona, a estúpida Cristina Dmitrievna vive à vontade! E trabalha-se numa fábrica destas, com cinco oficinas, e vende-se má chita nos mercados do Oriente, para que uma Cristina Dmitrievna possa comer esturjão e beber vinho madeira.
De repente, repetiram-se os sons estranhos que Koroliov tinha notado antes do jantar. Perto de um dos edifícios, alguém batia numa placa metálica e logo amortecia a ressonância, de modo que os sons eram breves, ásperos, mal definidos, qualquer coisa como "dê… dê… dê…". Depois, meio minuto de silêncio. E, perto do outro edifício, outros sons sacudidos, mas mais baixos, graves: "dran... dran... dran...". Repetiram-nos onze vezes. Eram, evidentemente, os guardas a darem as onze horas. Junto do terceiro edifício, ouviu-se: "jak... jak... jak...". A mesma coisa diante de cada um dos edifícios, depois por detrás das barracas e às portas.
Parecia que, na calma da noite, os sons eram produzidos por um monstro de olhos de púrpura: o próprio Diabo, que era aqui o senhor de patrões e de operários e que a uns e outros enganava.
Koroliov saiu para os campos.
- Quem está aí? - gritaram-lhe, com voz grosseira.
- Exactamente como numa prisão - pensou ele.
E não respondeu nada.
Fora, ouviam-se melhor os rouxinóis e as rãs. Sentia-se o cheiro da noite de Maio. Da estação vinham ruídos de comboios; para outro lado, cantavam galos sonolentos; contudo, a noite estava calma: a natureza dormia pacificamente.
No campo, não longe da fábrica, erguia-se o esqueleto duma casa de toros; ao lado, encontravam-se materiais de construção. Koroliov sentou-se numas tábuas e continuou a pensar.
- Só a governante vive aqui a seu gosto e a fábrica trabalha para a satisfazer. Mas é apenas uma aparência; é uma personagem imaginária: o patrão para quem tudo se faz aqui é o Diabo.
E pensava no Diabo em que não acreditava. E voltava-se para as duas janelas que o lume iluminava.
Parecia-lhe que, por estes olhos de púrpura, o próprio Diabo o olhava: numa palavra, a força desconhecida que estabeleceu as relações entre os fracos e os fortes, o erro grosseiro que nada agora pode emendar. É necessário que o forte impeça o fraco de viver: tal é a lei da natureza. Mas isto não é compreensível e não entra facilmente no espírito senão à luz dum artigo de jornal ou dum manual. No tumultuar da vida quotidiana e no entrelaçar de todos os nadas de que se entretecem as relações humanas, não parece uma lei; é um absurdo lógico, no qual o forte e o fraco são vítimas das suas relações mútuas e se submetem involuntariamente a uma força condutora desconhecida, que reside fora da vida e é estranha ao homem.
Assim pensava Koroliov, sentado sobre as tábuas, invadido pouco a pouco pela impressão de que essa força desconhecida e misteriosa estava realmente perto dele e o contemplava.
Entretanto, o céu a leste empalidecia; os minutos precipitavam-se. Os cinco edifícios da fábrica e as chaminés tinham, sobre o fundo cinzento da madrugada, nessa hora em que não se via alma viva, em que tudo parecia morto, - os edifícios e as chaminés tinham um aspecto especial, diferente do de dia. Esquecia-se por completo que houvesse lá dentro motores a vapor, electricidade e telefones; mais depressa se pensava nas habitações lacustres e na cidade de pedra; sentia-se a presença de uma força grosseira, inconsciente...
E de novo se ouviu:
- Dê... dê... dê... dê...
Doze vezes.
Depois o silêncio - meio minuto de silêncio - e, na outra extremidade do pátio:
- Dran... dran... dran...
- É bem desagradável, esta coisa... - pensou Koroliov.
E logo ouviu, num terceiro lugar:
- Jak... jak... jak...
O ruído era sacudido, áspero, exactamente como se estivesse aborrecido.
- Jak... jak...
Para dar a meia-noite foram precisos quatro minutos.
Depois, silêncio completo. E, de novo, a impressão de que tudo estava morto em volta.
Koroliov, depois de estar ainda algum tempo sentado, voltou para casa.
Mas ficou ainda muito tempo sem se deitar.
Nos quartos vizinhos conversava-se. Ouvia-se o perpassar de pantufas e de pés descalços.
- Será uma crise? - pensou o médico.
Saiu para ir ver a doente. No quarto havia lá muita claridade; na parede da sala tremeluzia um fraco raio de sol, através do nevoeiro da manhã. A porta estava aberta e Lisa sentara-se numa poltrona perto do leito, de roupão, envolta num xale e com os cabelos caídos. Os estores das janelas estavam corridos.
- Como se sente? - perguntou-lhe Koroliov.
- Obrigada...
Tomou-lhe o pulso, depois arranjou-lhe os cabelos que tinha sobre a testa.
- Não dorme? Está um tempo limpo, é a Primavera... Lá fora cantam os rouxinóis, e a Menina fica aí sentada, às escuras, a pensar não se sabe em quê...
Ela escutava-o e olhava-o. Tinha uns olhos tristes, inteligentes e via-se que queria dizer qualquer coisa.
- Isto dá-lhe muitas vezes? - perguntou ele.
Ela mexeu os lábios e respondeu:
- Muitas vezes... Quase todas as noites me sinto mal.
Neste momento, os guardas, no pátio, começaram a dar as duas horas. Ouviu-se: "Dê... dê..." Lisa teve um sobressalto.
- Estes sons incomodam-na? - perguntou o médico.
- Não sei... - respondeu ela, reflectindo - aqui tudo me incomoda, tudo me aborrece. Sinto compaixão na sua voz; pareceu-me desde o primeiro minuto, não sei porquê, que consigo podia falar de tudo...
- Fale, por favor.
- Vou dar-lhe a minha opinião. Parece-me que não estou doente, mas atormento-me e tenho medo porque isto tem que ser assim e não pode ser de outra maneira. O ser mais saudável não pode deixar de inquietar-se quando um bandido lhe ronda a porta. Têm todos os cuidados comigo - continuou baixando os olhos e sorrindo timidamente. - Estou muito reconhecida e não contesto a utilidade da medicina; mas desejaria falar, não com um médico, mas com alguém que estivesse perto do meu espírito: um amigo que me compreendesse e me demonstrasse que tenho ou não tenho razão.
- Não tem amigos?
- Sinto-me só... Tenho minha mãe e gosto dela. Mas sinto-me só. Calhou assim a minha vida... Quem está só lê muito, mas fala pouco e ouve pouco também; a vida lhe é misteriosa. Fica-se místico e vê-se o Diabo onde ele não está; a Tamara de Lermontov era só, e via o Demónio.
- Lê muito?
- Muito. Tenho todo o tempo livre, de manhã à noite. De dia leio, à noite tenho a cabeça vazia; em lugar de ideias, passam-me vagas sombras...
- Vê qualquer coisa de noite? - perguntou Koroliov.
- Não... mas sinto.
Sorriu de novo e levantou os olhos para o médico. O seu olhar era cheio de melancolia e cheio de inteligência. Pareceu a Koroliov que Lisa tinha confiança nele, lhe queria falar sinceramente e tinha pensamentos semelhantes aos seus. Mas ela calara-se e esperava talvez que ele falasse.
E sabia bem o que tinha a dizer-lhe. Era evidente que se tornava necessário que ela abandonasse o mais depressa possível os cinco edifícios da fábrica e o seu milhão, se acaso o tinha, e deixasse aquele Diabo que de noite a olhava. Era igualmente claro para Koroliov que ela também o pensava e que esperava que lho dissesse alguém em quem ela tivesse confiança.
Mas o médico não sabia por onde começar... Como havia de ser?... É difícil perguntar aos condenados por que razão os condenaram; e é também aborrecido perguntar aos ricos por que motivo têm necessidade de tanto dinheiro; por que fazem tão mau uso da sua riqueza, por que não a deixam, mesmo quando vêem que aí reside a sua infelicidade... E se se começa a falar disto a conversação é geralmente embaraçada e longa.
- Como hei de dizê-lo? - pensava Koroliov. - E será preciso?
E disse o que queria, não directamente, mas com uns desvios:
- A Menina está descontente da sua situação de proprietária de fábrica e de herdeira rica; não acredita nos seus direitos e não dorme. É seguramente melhor do que se estivesse satisfeita e dormisse profundamente pensando que tudo vai bem. A sua insónia é respeitável e, seja o que for, é bom sinal. Com seus pais seria impossível uma conversa semelhante àquela que hoje temos aqui. De noite, não conversavam, dormiam profundamente; mas nós, os desta geração, dormimos mal. Preguiçamos, falamos muito, e consideramos continuamente se temos ou não temos razão. Para os nossos filhos e para os nossos netos já essa questão estará resolvida. Verão mais claro do que nós. Dentro de cinquenta anos, a vida será bela; é pena que não possamos viver até lá. Devia ser bem interessante...
- Que farão então os nossos filhos e os nossos netos? - perguntou Lisa.
- Não sei... Talvez deixem tudo e partam...
- Para onde?
- Para onde? Mas para onde quiserem - disse Koroliov a rir-se. - Há poucos lugares para onde possa ir um homem bom e inteligente?
Olhou para o relógio.
- Já nasceu o Sol. É tempo que durma. Dispa-se e repouse à vontade. Tenho muito prazer em a ter conhecido - disse ele, apertando-lhe a mão. - É interessante e simpática. Boa noite!
Voltou para o quarto e deitou-se.
No dia seguinte de manhã, quando trouxeram o carro, toda a gente veio acompanhar o médico à porta. Lisa, de vestido branco como num dia de festa, tinha uma flor nos cabelos. Pálida, lânguida, contemplava Koroliov, como de noite, com ar triste e inteligente. Sorria e falava sempre com a mesma expressão de lhe querer dizer alguma coisa de particular, de grave, alguma coisa que fosse só para ele. Ouviram-se as cotovias cantar, os sinos tocavam. As janelas da fábrica brilhavam alegremente. Ao atravessar o pátio e enquanto o conduziam à estação, Koroliov já não pensava nos operários nem nas habitações lacustres, nem no Diabo. Pensava no tempo, já talvez próximo, em que a vida seria tão luminosa e alegre como essa manhã calma de Maio. E pensava em como era agradável, em semelhante manhã de Primavera, viajar num bom carro, com os seus três cavalos, e aquecer-se ao sol.
Anton Tchekhov
A MULHER DOS OLHOS AZUIS
O comissário adjunto da polícia, Zossime Guillovitch Podchiblo, pesado e melancólico ucraniano, estava sentado à secretária, torcia os bigodes e girava os olhos irritados mirando o pátio do comissariado pela janela. O gabinete era escuro, quente e silencioso; só o pêndulo de um grande relógio de parede contava os minutos com pancadas desagradáveis e monótonas. No pátio, ao contrário, tudo era sedutor, claro... Três bétulas mergulhavam-no em sombra espessa e, num monte de feno recentemente trazido para ali para os cavalos dos bombeiros, dormia, estendido à vontade, o sargento Konkharine, que acabara de ser rendido da guarda. Zossime observava-o e aquilo tornava-o furioso. O subordinado dorme e ele, o seu infeliz chefe, deve vegetar neste buraco e respirar as emanações húmidas dos seus muros de pedra! Podchiblo imaginava o prazer que sentiria também, repousando à sombra, deitado no feno perfumado, se tivesse tempo e se a sua posição administrativa lho permitisse; depois espreguiçou-se, bocejou e ficou ainda mais desesperado. Sentiu o incoercível desejo de acordar Konkharine.
- Eh, tu!... Eh... Animal! Konkharine! - chamou ele com toda a força.
A porta abriu-se e alguém entrou no gabinete. Podchiblo olhava pela janela e não se virou, não teve o mais pequeno desejo de saber quem entrava, quem estava por trás dele no limiar da porta e fazia gemer o soalho sob o seu peso.
Konkharine não deu pelo chamamento do seu superior. Com as mãos cruzadas debaixo da cabeça, a barba virada para o céu, dormia, e a Zossime pareceu-lhe ouvir o forte ressonar do seu subordinado, um ressonar irónico, saboroso, feito para excitar ainda mais o seu desejo de repouso e a raiva de não se poder entregar a ele. Podchiblo teve vontade de descer para dar um bom pontapé na barriga inchada do homem, de o apanhar pela barba e arrastá-lo para o sol.
- Eh... ainda na sorna! Estás a ouvir-me?
- Senhor comissário, quem está de serviço sou eu! Proferiu alguém atrás dele numa voz obsequiosa e açucarada.
Podchiblo voltou-se, mediu com um olhar mau o sargento que remexia uns olhos grandes e embrutecidos e estava pronto a lançar-se instantaneamente aonde o mandassem.
- Chamei-te?
- Não, senhor comissário.
- Fiz-te alguma pergunta? - disse Podchiblo aumentando a voz e agitando-se ligeiramente na cadeira.
- Não, senhor comissário.
- Então, vai para o Diabo antes que te atire com qualquer coisa às ventas!
E ele começava já a remexer febrilmente na mesa com a mão esquerda para encontrar um projéctil qualquer enquanto a direita se agarrava à cadeira; mas o sub-oficial, lesto e rápido, passou para o outro lado da porta e desapareceu. Este desaparecimento parecia insuficientemente respeitoso ao comissário auxiliar da polícia; e veio-lhe a vontade de descarregar de qualquer forma toda a cólera que sentia subir em si contrastando com o ar morno da sala, com o serviço, com Konkharine adormecido, com a próxima temporada da feira e com outras maçadas que, não se sabe porquê, vinham naquele dia apresentar-se espontaneamente ao seu espírito, contra a sua vontade.
- Eh lá! Vem cá... - gritou na direcção da porta.
O sargento de serviço entrou e abrigou-se sob a soleira; a sua cara exprimia horror e expectativa.
- Cara de parvo - insultou-o Podchiblo com um ar carrancudo. - Vai ao pátio, acorda Konkharine e diz-lhe, a esse burro, que não torne a ressonar ali. Um escândalo!... Vai... depressa...
- Às suas ordens! E, senhor comissário, está ali uma senhora que o queria ver...
- Quem?
- Uma senhora...
- Como?
- Uma grande...
- Idiota! Que é que ela quer?
- Vê-lo...
- Pergunta-lhe para quê... anda!
- Perguntei-lhe... não me respondeu... «Quero ver o senhor comissário» disse ela.
- Ah, cambada!... Dize-lhe que entre!... É nova?
- Sim, senhor comissário.
- Bom, que entre!... Mexe-te! - ordenou Podchiblo com uma voz já mais suave; ajeitou o fato e fez barulho com os papéis na mesa dando à sua fisionomia aborrecida o aspecto vigoroso que convém à autoridade administrativa.
Atrás dele ouviu-se um roçar de vestido.
- Que deseja? - perguntou Podchiblo colocado a três quartos depois de ter medido a visitante com um ar crítico. Esta inclinou-se e aproximou-se lentamente da mesa, deitando um olhar encantador e furtivo ao polícia com os seus olhos azuis e graves. Estava vestida simples e pobremente, como as mulheres da pequena burguesia: com um lenço na cabeça, trazia um mantelete de pele cinzenta muito usada, cujos cantos ela amarfanhava entre os dedos morenos das suas mãos pequenas e bonitas. Era grande, forte, com o busto desenvolvido, e o rosto comprido e trigueiro; ela tinha em si qualquer coisa de particularmente severo e reflectido que não era feminino. Podia-se-lhe dar uns vinte sete anos. Avançava com um ar pensativo, com lentidão, como se perguntasse a ela mesma: «Não deveria ir-me embora?»
«Diabo! que granadeiro!» pensou Podchiblo imediatamente após a pergunta feita. «Isto vai dar uma queixa»...
- Podia dizer-me... - começou ela com uma voz profunda de contralto, depois interrompeu-se hesitante, parando os seus olhos azuis na cara barbada do oficial da polícia.
- Sente-se, se faz favor... Que deseja saber? - perguntou Podchiblo com um tom oficial, continuando a pensar para consigo: «Uma boa mulher! Eh! Eh!»
- É por causa dos livretes...
- De habitação?
- Não, não é desses...
- Então quais?
- Aqueles... aqueles com que... as mulheres vão...
- Que quer dizer?... De que mulheres se trata? - perguntou Zossime levantando as sobrancelhas com um sorriso atrevido.
- Toda a espécie de mulheres que... saem à noite...
- Ai, ai, ai! As prostitutas? - fez Zossime, explicando-se amavelmente.
- Sim! É isso.
E, suspirando profundamente, ela sorriu por sua vez, mostrando-se mais à vontade depois de ouvir a palavra.
- Ah! Ah! Então? Sim, sim! E depois? - começou a interrogar Zossime, pressentindo qualquer coisa interessante e complicada.
- E depois, foi por causa desses cartões que eu cá vim... - pronunciou a mulher deixando-se cair para trás na sua cadeira, suspirando e sacudindo estranhamente a cabeça como se tivesse recebido uma pancada.
- Então... vai abrir um pequeno estabelecimento? É isso...
- Não, é para mim...
E a mulher baixou muito a cabeça.
- Ah! Ah! E então onde está o seu antigo livrete?... - perguntou Podchiblo e, puxando a sua cadeira para mais perto da visitante, deitou-lhe a mão à cintura, atirando uma olhadela para a porta.
- Qual? Eu não tinha... - respondeu ela, olhando para ele, mas não fez um movimento para evitar a sua mão.
- Então você exercia secretamente a sua indústria? - Você não estava matriculada? Isso acontece. E você quer pôr-se em dia? Está bem... Há menos riscos - encorajou-a Zossime, afoitando-se nos seus gestos.
- Mas é a primeira vez que... - precisou ela, baixando os olhos com um ar incomodado.
- Mas como, a primeira vez? Não compreendo - retorquiu Podchiblo, encolhendo os ombros.
- Eu quero só... É a primeira vez. Eu vim para a feira - explicou a senhora com uma voz estrangulada, sem levantar os olhos.
- Ah, é isso! - Zossime retirou a mão, afastou-se, e, um bocado embaraçado, recostou-se na sua cadeira.
Ficaram um instante silenciosos.
- É então isso!... Sim... você quer... Mas é uma profissão desagradável, vejamos. Difícil... Quero dizer, naturalmente... Mas mesmo assim... Estranho! Não compreendo, confesso... Como é que pode tomar essa decisão. Se é efectivamente verdade...
Como polícia experimentado, ele via bem, que efectivamente, era verdade: ela era fresca e correcta de mais para pertencer às mulheres de certa profissão... Não tinha nenhum dos sintomas de venabilidade que marcam infalivelmente o físico e os gestos duma mulher, mesmo depois de uma curta prática.
- Juro-lhe que é verdade! - Ela inclinou-se subitamente para ele, com confiança. - Eu ia exercer esta suja profissão, e ia pôr-me a mentir? Então porquê? É preciso levar as coisas simplesmente. Está a ver, eu sou viúva. Perdi o meu marido: ele era piloto e desapareceu em Abril durante o degelo. Tenho dois filhos, um rapaz de nove anos, uma rapariga de sete. Não tenho rendimentos. Pais também não. Ele casou comigo órfã. E os dele, os pais, estão longe. E, aliás, não gostavam de mim... Como são abastados, eu sou para eles uma espécie de mendiga. Não tenho porta onde bater. Podia trabalhar, é certo. Preciso de muito dinheiro, e nunca ganharia o suficiente. O meu filho está no liceu. Naturalmente, eu podia fazer uma tentativa para uma bolsa, mas onde é que isso me levava, a mim, uma pobre mulher? E o meu filho é um homenzinho... sabe, uma boa cabeça! Era pena cortar-lhe a carreira... O mesmo com a rapariga... Também é preciso dar-lhe qualquer coisa. E um trabalho para isto, um trabalho honesto... encontra-se pouco. E quanto ganharia? E depois, pergunto-lhe eu, que trabalho? Cozinheira, talvez... sim, claro... cinco rublos por mês... não chega! Não chega para nada! Enquanto que com esta coisa... Com sorte... pode-se ganhar duma vez para comer durante um ano. Durante a feira, o ano passado, uma mulher que eu conheço ganhou quatrocentos rublos! Agora, com esse dinheiro, casou-se com um guarda florestal; é uma senhora, não precisa de se maçar mais. Vive... Mas, há a vergonha, dirá o senhor, claro, é desonroso... Mas é só... E se pensar... É o destino... É sempre o destino. Isto veio-me assim, ao espírito; então, não é verdade, é preciso fazê-lo: é um sinal do destino... Se der resultado, muito bem... se não der, e que eu tenha apenas o sofrimento e a vergonha... será também o destino... Sim...
Podchiblo ouvia-a e percebia metade, porque toda a sua fisionomia falava. A princípio, era uma expressão de terror, mas, depois, tinha-se tornado simples, seca e resoluta.
Ele sentia-se pouco à vontade, com uma ponta de inquietação.
«Caia um idiota entre as mãos desta vaca e ela arrancar-lhe-á a pele num segundo e não lhe deixa senão os ossos» pensou e, quando a sua visitante acabou, disse secamente:
- Não posso fazer nada por si. Dirija-se ao chefe da polícia. Isso é com a direcção da polícia e com a inspecção sanitária. Eu não posso nada...
Desejava vê-la partir o mais cedo possível. Ela levantou-se imediatamente, inclinou-se e dirigiu-se lentamente para a porta. Podchiblo, com os dentes cerrados, piscando os olhos, seguia-a com os olhos, e calava-se para não lhe cuspir nas costas...
- Então, eu devo ir ver o chefe da polícia, diz o senhor? - perguntou-lhe ainda, voltando-se na porta... Os seus olhos azuis diziam a sua decisão inabalável. Mas uma ruga profunda vincava o seu rosto.
- Sim, sim! - respondeu precipitadamente Podchiblo.
- Até à vista! Muito obrigada! - E ela saiu.
Podchiblo encostou-se com os cotovelos sobre a mesa e ficou assim uma dezena de minutos, assobiando entre os dentes.
- Que estupor, hein? - Pronunciou em voz alta, sem levantar a cabeça. - Ainda por cima com os miúdos! O que é que os miúdos tinham a ver com isto? Hein! Que carcassa!
Fez-se, de novo, um enorme silêncio...
- Mas há a vida também..., se tudo aquilo é verdade. A vida torce um homem como uma corda, pode dizer-se... Sim... A vida não é nada macia...
Depois de novo silêncio, para recapitular todo o trabalho do seu pensamento, ele deu um pesado suspiro, cuspiu com um ar definitivo e exclamou energicamente:
- Porcaria!
- Que deseja? - disse o sargento de serviço que reapareceu à porta.
- Hein?
- O senhor comissário deseja qualquer coisa?
- Põe-te a mexer!
- Às suas ordens!
- Espécie de burro! - resmungou Podchiblo. E olhou pela janela.
Konkharine continuava a dormir no feno... Manifestamente, o sargento de serviço tinha-se esquecido de o acordar...
Mas Podchiblo tinha esquecido a sua cólera e o espectáculo do soldado que se refastelava sem cerimónia não o aborreceu de maneira nenhuma. Sentia-se obscuramente assustado. Via no espaço os olhos azuis, tranquilos, que o fitavam resolutamente, no rosto. Sob este olhar obstinado sentia um peso no coração, uma espécie de mal-estar.
Olhou para o relógio, reajustou o cinturão e saiu do gabinete, resmungando:
- Tornaremo-nos a ver, não há dúvida... É mesmo certo!
Efectivamente, tornaram a encontrar-se.
Uma noite em que rondava de serviço, Podchiblo viu-a a cinco passos de distância. Dirigia-se para o jardim público com o lento andar coleante, os olhos azuis obstinadamente fitos em frente, ao longe; em toda a sua figura, harmoniosa e alta, no movimento do busto e das ancas, no olhar luminoso e grave, havia qualquer coisa que se desencontrava; o vinco de fatalidade extrema, de renúncia, que lhe marcava a face, estava muito mais nítido que no primeiro encontro e estragava, endurecendo-o, aquele belo rosto.
Podchiblo cofiou o bigode, acariciou uma ideia travessa que acabava de nascer no seu espírito e decidiu não perder a mulher de vista.
- Espera um bocadinho, minha coruja! - Tal foi a exclamação prometedora que lhe dirigiu mentalmente.
Cinco minutos mais tarde estava já sentado ao lado dela num dos bancos do jardim.
- Não se lembra de mim? - perguntou ele sorrindo.
Ela olhou para ele e mediu-o calmamente.
- Sim, lembro-me. Boa tarde, - disse ela em voz baixa, abafada, mas não lhe estendeu a mão.
- Então, como vai isso? Sempre conseguiu o livrete?
- Está aqui! E começou imediatamente a procurar na algibeira do vestido, sem abandonar o seu ar dócil.
O polícia ficou um bocado desconcertado.
- Mas não, não vale a pena, não o mostre que eu acredito. E mesmo, eu não tenho o direito... Quero dizer... Diga-me antes se se está a sair bem? - perguntou ele. E pensou no mesmo instante. «Preciso de sabê-lo! E de que maneira! E além disso... vou-me pôr com delicadezas? Então, Podchiblo, vamos a isto!»
No entanto, se bem que assim pensasse, não se decidia a entrar a fundo. Havia nela qualquer coisa que não permitia aproximar-se-lhe muito de perto, imediatamente.
- Êxito? Lá vai, com a graça de... - ela parou bruscamente, abandonou a frase e corou fortemente.
- Está muito bem. Parabéns... é duro quando não se está habituada? Hein?
De repente ela teve um movimento de recuo com todo o tronco, as faces empalideceram, a fisionomia endureceu, a boca arredondou-se como se fosse dar um grito e bruscamente inteirisou-se para se afastar dele e retomar a atitude precedente...
- Vai indo... Habituar-me-ei... - disse com um tom igual e claro, - e, depois, tirando o lenço, assoou-se ruidosamente.
Podchiblo sentiu o peito oprimido. Era tudo aquilo, o gesto, a proximidade e os olhos azuis, imóveis e tranquilos.
Irritou-se contra si próprio, levantou-se e estendeu-lhe a mão sem dizer nada, com um ar zangado.
- Até à vista! - disse ela docemente.
Ele respondeu com um gesto de cabeça e afastou-se rapidamente, chamando-se enraivecidamente idiota e criança.
- Espera minha garota! Terás a paga! Vou fazer-te ver quem sou. Encarrego-me de te fazer passar esses ares de hipócrita! - ameaçou-a mentalmente, sem saber porquê. E todavia apercebia-se de que nada tinha contra ela.
Mas isso ainda mais lhe aumentava a ira.
Dez dias mais tarde, Podchiblo, vindo da feira caminhava na direcção do cais da Sibéria; parou ouvindo gritos de mulher, trocas de insultos e outros ruídos duma bulha escandalosa que chegava à rua pela janela dum café.
- Um agente! Socorro! - gritava uma voz ofegante. Ouviam-se pancadas medonhas com o barulho de ferragens, de móveis partidos e alguém, deliciado, mugia com voz de baixo que cobria toda a algazarra:
- Dá-lhe! Ainda!... Em cheio na tromba! E pumba!
Podchiblo trepou as escadas a correr, abriu passagem aos empurrões pela multidão que se tinha comprimido à porta da sala e o quadro seguinte apareceu-lhe à vista: inclinada para a frente, sobre uma mesa, o seu velho conhecimento, a mulher dos olhos azuis, tinha agarrado pelos cabelos uma outra mulher, e puxava-a para si, batendo-lhe na cara repetidas vezes, naquela cara aterrorizada e já inchada pelas pancadas.
Os olhos azuis, agora, estavam crispados pela crueldade, os lábios cerrados, vincos profundos saíam dos cantos da boca para o queixo, e aquele rosto que lhe era familiar, há pouco tão estranhamente sereno, tinha agora a expressão de animal bravio cheio duma fúria implacável. Era a cara de um indivíduo pronto a torturar indefinidamente o semelhante, a torturá-lo por prazer.
A vítima não fazia senão gemer; agitava-se com espasmos e batia estupidamente no ar com os braços.
Podchiblo sentiu uma onda de fúria invadi-lo: o desejo selvagem de se vingar de qualquer coisa sobre alguém. Atirou-se e, agarrando a mulher que batia pela cintura, arrancou-a com um puxão da vítima.
A mesa caiu num ruído de louça partida; o público gritava selvaticamente, morrendo a rir.
Podchiblo via, como nas tonturas da embriaguez, passar e repassar à frente dos seus olhos um desfile de caraças vermelhas, bestiais; segurava a autora da rixa pela cintura e gritava-lhe raivosamente aos ouvidos.
- Ah! Escândalo? Desordem? Vais ver!
A que levara pancada caiu ao chão entre os fragmentos de loiça; estremecia com soluços entrecortados por guinchos histéricos...
- Aquela, excelência - disse à outra: - «Vai então, prostituta, animal!». Então a outra deu-lhe um murro. Vai ela atirou-lhe com a chávena de chá à cara, e então, eu agarro-te os cabelos, eu bato-te, eu bato-te! E depois, sou eu que lhe digo, uma sova de criar bicho! Que sarilho!
- Ah! então é isso? - rosnou Podchiblo, apertando a mulher cada vez mais contra si, e começando ele próprio a sentir ganas de se bater.
Debruçado à janela, bizarramente curvado, mostrando as costas largas, o pescoço arroxeado pela cólera, rugiu para a rua: - Cocheiro! Eh, cocheiro!
E um pouco mais tarde:
- Vamos, depressa... Para a esquadra! Toca a andar!... As duas! Vamos! De pé... E tu, onde estavas? E o teu serviço? Animal! Leva-as para a esquadra. À bruta! As duas... Vá!
O agente da polícia, forte e atarracado, empurrando ora uma, ora outra, com uma pancada nas costas, fê-las sair da sala.
- Dá-me... uma aguardente com água de Seltz, depressa! - disse Podchiblo ao criado, e deixou-se cair numa cadeira ao pé da janela, extenuado e furioso contra tudo e contra todos.
No dia seguinte de manhã ela estava à sua frente tão resoluta e calma como no primeiro encontro; fitava-o a direito nos olhos com o seu olhar azul e esperava o momento em que ele começasse a falar.
Podchiblo, que não tinha dormido o suficiente e se sentia exasperado, remexia os papéis que estavam em cima da mesa e, mau grado o seu mau humor, não sabia como encetar o diálogo.
As apóstrofes e injúrias habitualmente de rigor nestes casos não podiam sair-lhe da boca, e queria encontrar algo mais duro, mais violento que lhe atirasse à cara.
- Como é que isso começou, a vossa questão? Vamos, fala.
- Ela insultou-me... - pronunciou a mulher com um ar de dignidade.
- Que lindeza... Quem havia de dizer... - ironizou Podchiblo.
- Ela não tinha esse direito... Eu não sou como ela.
- Ai, minha avó! Então o que é que tu és?
- Eu, ora... é a miséria... sim... enquanto que ela...
- Ah! E ela, é por prazer, sem dúvida?
- Ela?
- Sim, ela. Tu julgas que é por prazer?
- Mas porque é que ela o faria? Ela não tem filhos, ela...
- Ah, aí está o que tu querias dizer... cala-te, reles estupor! Não me venhas para cá com a história dos filhos para me adoçar a boca... Vai-te, mas toma cuidado, se eu tornar a apanhar-te: mudada em vinte e quatro horas! Não penses em pôr os pés no terreno da feira! Percebeste? Bom! Eu conheço-as! Eu te direi! Escândalo! Faço-te ver o escândalo, eu, minha porcaria!
E, mais insultantes umas que outras, as palavras saíam da boca do polícia para saltar à cara da mulher. Ela empalideceu e os seus olhos franziram-se como na véspera, no café.
- Vai-te embora! - trovejou Podchiblo, batendo brutalmente com o punho na mesa.
- Que Deus o julgue... - articulou ela secamente, em tom ameaçador. E saiu rapidamente do gabinete.
- Eu dou-te os juízes! - berrou Podchiblo.
Tinha tido prazer em humilhá-la. Aquele rosto calmo e o olhar direito dos olhos azuis tinham-no posto fora de si. Para que é que ela se punha a fingir e com presunções? Filhos? Parvoíces! Que descaramento! O que é que os miúdos têm a ver com isto? Uma debochada que se vai vender à feira e que arma em inocente... Uma mártir, por força... e os filhos! Onde quer ela chegar com isto? Não tem coragem de se portar mal francamente, e então vai chorar às portas que é miséria... Quem havia de dizer...
No entanto, eles existiam: o rapaz, um pouco pálido e tímido, na sua farda velha e usada de liceal, com um barrete negro mal feito, por cima das orelhas, e a rapariguinha, com um impermeável de xadrez demasiado grande para ela. Lá estavam, os dois, nas pranchas do embarcadoiro de Kachine e tremiam de frio sob o vento do Outono, absorvidos pela sua conversa infantil e fácil. A mãe estava de pé, atrás deles, encostada a uma carga de mercadorias; e olhava-os carinhosamente com os seus olhos azuis. O rapaz parecia-se com ela; também tinha os olhos azuis; virava muitas vezes para a mãe a sua cabecita com um boné, cuja pala estava partida, e falava-lhe sorrindo. A rapariga tinha a cara muito marcada de varíola, o nariz era pontiagudo, os olhos grandes e cinzentos tinham um brilho vivo e inteligente. À volta deles, nas pranchas, alinhavam-se caixotes e embrulhos.
Estava-se no fim de Setembro: a chuva caía desde manhã, o cais estava ensopado em lama viscosa e o vento soprava, húmido e frio.
Vagas revoltas corriam sobre o Volga e batiam ruidosamente na margem. Por toda a parte havia um rumor surdo, pesado, violento... Gente de toda a espécie agitava-se, inquieta, precipitando-se não se sabe para onde... E, ao fundo do cais animado duma vida palpitante, o grupo formado pelas duas crianças e a mãe, esperando calmamente, saltava imediatamente aos olhos.
Zossime Podchiblo tinha notado o grupo há muito e, mantendo-se à distância, observava com uma atenção contida. Ele via todos os movimentos de cada um e envergonhava-se...
Vindo do cais da Sibéria, aproximava-se o vapor de Kachine; dentro de meia-hora partia para subir o Volga.
O público precipitava-se aos empurrões no desembarcadoiro.
A mulher dos olhos azuis inclinou-se para os filhos, endireitou-se, muito carregada de pacotes e embrulhos, e desceu as escadas, atrás dos dois filhos que iam de mão dada, carregados igualmente.
Podchiblo também devia ir ao desembarcadoiro. Não tinha vontade, mas era preciso, um pouco mais tarde, ela lá estava, não longe da bilheteira.
A mulher comprou um bilhete. Nas mãos tinha uma enorme carteira amarela, recheada de notas.
- Para mim, está a ver - dizia ela - precisava... Para os pequenos, uma segunda classe, vamos para Kostrona, e, para mim uma terceira. Um só bilhete para os dois miúdos, se for possível?... Não? Podia fazer-me um desconto? Muito obrigado! Deus lhe...
E ela afastou-se satisfeita. As crianças andavam à volta dela e, puxando-a pelo vestido, perguntavam-lhe qualquer coisa... Ela ouvia-os e sorria...
- Ah, Senhor! claro, eu compro-lhes, prometi! Então eu dizia que não? Cada um, dois? Bom... fiquem aí!
E dirigiu-se para a esplanada onde se vendia toda a espécie de artigos e frutas.
Pouco depois estava novamente ao pé das crianças e dizia-lhes:
- Toma, para ti, Babetle, um sabonete... Cheira muito bem! Toma, cheira! E, para ti, Pierrot, uma faca. Vês, eu lembro-me, não há nada que eu esqueça! E aqui estão dez laranjas. Comam-nas... Mas não agora...
O barco atracou ao pontão. Um choque. Toda a gente oscilou. A mulher, com um olhar inquieto pôs as mãos nos ombros dos filhos e apertou-os contra si. Os pequenos estavam calmos.
Tranquilizada por sua vez, começou a rir, e as crianças riram com ela. Puseram a prancha no seu lugar e a gente atirou-se para o barco.
- Esperem! Nada de empurrões, minha besta - ordenou Podchiblo, à frente de quem desfilavam os passageiros, a um carpinteiro carregado de serras, machados e outras ferramentas. - Desastrado! Deixa passar a senhora e os filhos... Que bruto que és; meu pobre tiozinho! - completou ele com mais doçura, logo que a senhora, aquela que ele conhecia e que tinha os olhos azuis, lhe sorriu e o saudou, passando à frente dele para subir para o vapor...
...Terceiro apito.
- Larga! - Ordenou o capitão do cimo da ponte.
O barco estremeceu e largou lentamente.
Podchiblo, passeando os olhos pelo povo concentrado na ponte e encontrando a mulher das pupilas azuis, tirou respeitosamente o boné e inclinou-se para a cumprimentar.
Ela respondeu-lhe com uma profunda vénia à russa e benzeu-se com fervor.
Ela partia para Kostrona com os filhos.
Podchiblo seguiu-a com o olhar durante alguns instantes, deu um profundo suspiro e saiu do desembarcadoiro para ir para o seu posto. Estava triste e abatido.
Máximo Gorki
NOVE DE JANEIRO
...A multidão lembrava a vaga escura dum oceano que acaba de ser despertado pela primeira rajada da tempestade; deslizava lentamente para a frente e os rostos cinzentos das pessoas assemelhavam-se à crista, torva e cheia de espuma, da onda.
Os olhos brilhavam de excitação, mas as pessoas olhavam-se como se não acreditassem na sua própria decisão, como se a sua própria atitude os espantasse. Sobre a multidão rodopiavam as palavras, semelhantes a aves sem peso e sem brilho. Falava-se em voz contida, com seriedade, como se cada um se procurasse justificar perante os outros.
- Viemos porque não se pode aguentar mais...
- O povo não se mexe sem um motivo forte...
- Será possível que «ele» não compreenda?
Falava-se sobretudo «dele», garantiam uns aos outros que «ele» era cordial e bondoso, e que compreendia tudo. Mas as palavras que serviam para lhe pintar a imagem eram descoloridas. Sentia-se que há muito tempo, talvez desde sempre, não pensavam «nele» seriamente, não o representavam como um ser vivo, real; não sabiam bem quem era e compreendiam com dificuldade para que servia e o que podia fazer. Mas hoje «ele» era necessário, todos se apressavam a compreendê-lo e, sem «o» conhecer na realidade, compunham na sua imaginação, sem o desejarem conscientemente, algo de colossal. As esperanças eram grandes, para se apoiarem necessitavam também de algo incomum.
De vez em quando uma voz de homem, audaciosa, soava na multidão:
- Camaradas! Não se enganem a si próprios...
Mas a ilusão era indispensável e a voz isolada era abafada pelo tumulto de gritos assustados e irritados:
- Queremos tudo às claras!
- Cala-te, amigo!...
- De resto, o pope Gapone...
- Ele é que sabe...
A multidão hesitante marulhava no canal da rua onde se fragmentava em grupos isolados; as vozes zumbiam, discutindo e argumentando, a turba acotovelava-se contra as paredes dos prédios e voltava a invadir o meio da calçada, sombria massa líquida onde se sentia o fermentar confuso das dúvidas, onde se detectava a expectativa nervosa do que iluminaria o caminho que leva ao objectivo por meio da fé no sucesso e que, por ela, fundiria e uniria todos esses fragmentos num todo único, harmonioso e sólido. Tentava-se, sem o conseguir, dissimular o cepticismo que se manifestava por uma inquietação confusa aliada a uma extrema receptividade aos ruídos. Prestava-se atenção com um ouvido circunspecto, olhava-se para diante procurando obstinadamente alguma coisa. As vozes dos que acreditavam na sua força interior e não em outra qualquer fora deles, suscitavam na multidão um receio irritado, eram demasiado ásperas para seres seguros dos seus direitos, a medir-se em debate franco com aquela força que queria ver.
Transbordando de rua em rua, a massa humana crescia a um ritmo vertiginoso, e esse aumento exterior provocava pouco a pouco a sensação de um crescimento interior, despertava a consciência dos direitos do povo-escravo em implorar à autoridade que prestasse atenção ao seu infortúnio.
- Quer queiram, quer não, também somos homens...
- «Ele» compreenderá. Imploraremos...
- Deve compreender. Não nos revoltamos...
- Além disso, o pope Gapone...
- Camaradas! A liberdade não se implora...
- Oh, meu Deus!
- Espera aí, amigo!
- Calem esse demónio!
- O pope Gapone sabe melhor o que se deve fazer...
- Quando a fé é necessária aos homens, aparece...
Um homem alto, com um sobretudo escuro, remendado no ombro com um pedaço de tecido ruço, subiu para um marco e, tirando da cabeça calva o boné, começou a falar bastante alto, num tom solene, com uma chama nos olhos e um tremor na voz. Falava «dele», do czar.
Mas no tom e nas palavras que empregava não se sentia mais do que um entusiasmo afectado, não vibrava no discurso aquele sentimento que pode, comunicando-se aos outros, quase produzir milagres. O homem tinha o ar de quem se força para despertar e chamar à memória uma imagem que desde há muito perdera a personalidade, uma imagem a que o tempo apagara qualquer sombra de vida. Ela estivera sempre longe do homem, mas agora o homem necessitava dela, pretendia colocar nela todas as suas esperanças.
E assim, pouco a pouco, reanimavam o morto. A multidão ouvia com atenção: aquele homem reflectia os seus desejos e ela sentia-o. Embora aquela fabulosa representação da força se não fundisse com nitidez com a «sua» imagem, todos sabiam no entanto que tal força existia, que devia existir. O orador encarnava-a no ser que todos conheciam pelas ilustrações dos calendários, ligava-a à imagem que conheciam através dos contos e, nesses contos, a imagem era humana. As palavras do orador, sonoras e compreensíveis, pintavam de maneira clara um ser poderoso, afável e justo, que prestava uma atenção paternal ao infortúnio do povo.
A fé vinha, enganava as pessoas, excitava-as, abafando o murmúrio surdo das dúvidas... As pessoas apressavam-se a ceder a esse estado de espírito, dado que o esperavam há longo tempo, e acumulavam-se numa bola enorme feita de corpos com uma única alma, e essa densidade, a proximidade dos ombros e dos flancos aqueciam o coração com uma doce certeza, a esperança no sucesso.
- Não temos necessidade de bandeiras vermelhas! - gritava o careca. Agitando o boné, caminhava à frente da multidão e o crânio brilhante dançava diante dos olhos e atraía a atenção.
- Vamos ter com o nosso pai!
- Ele não deixará que nos ofendam...
- O vermelho é a cor do nosso sangue, camaradas!
A voz sonora teimava, mantinha-se obstinadamente por cima da multidão.
- A única força que pode libertar o povo é a própria força do povo!
- Não devem...
- Querem semear a discórdia, patifes!
- O pope Gapone vai com uma cruz e aquele vai com uma bandeira!
- Tão novo e já lhe apetecia comandar!
Os que se sentiam menos seguros caminhavam no meio da multidão e dali ouvia-se gritar com uma irritação inquieta:
- Corram com ele, esse da bandeira!
Seguiam agora depressa, sem hesitações e, a cada passo, a unidade de espírito aumentava; a embriaguez da ilusão tornava-se mais intensa. O “ele”, acabado de criar, despertava insistentemente nas memórias as velhas sombras dos bons heróis, ecos de histórias ouvidas na infância, e, saciando-se com a força viva desse desejo de acreditar, crescia nas imaginações com impetuosidade.
Alguém gritou:
- «Ele» ama-nos!
E, evidentemente, as pessoas acreditavam naquele amor de um ser que elas próprias acabavam de criar.
Quando a multidão desembocou na margem do rio e viu diante de si a linha comprida e quebrada dos soldados que lhe impedia a passagem para a ponte, não se deixou deter por esse obstáculo cinzento e ténue. As silhuetas dos soldados que se desenhavam como linhas finas no fundo azul-claro do largo rio nada tinham de ameaçador; saltitavam para aquecer os pés gelados, gesticulavam, empurravam-se; em frente, do outro lado do rio, as pessoas divisavam um edifício escuro; quem os esperava ali era «ele», o czar, o dono daquela casa. Grande, poderoso, bom e afável, não podia evidentemente ordenar que aqueles soldados impedissem o povo, que o amava e desejava contar-lhe as suas misérias, de ir à sua presença.
No entanto, em muitas expressões apareceu a sombra de uma perplexidade e aqueles que caminhavam na frente abrandaram o passo ligeiramente. Uns olharam para trás, outros afastaram-se, e todos se esforçaram por demonstrar uns aos outros que, quanto à presença dos soldados eles já sabiam, aquilo não os surpreendia. Alguns olharam calmamente para o anjo de ouro que brilhava bem alto, no céu, por cima da triste fortaleza, e outros sorriram. Uma voz compadecida comentou:
- Coitados dos soldados, têm frio!...
- Devem ter, claro!
- Têm de estar ali, parados!
- O dever deles é manter a ordem!
- Devagar, rapazes! Calma!
- Vivam os soldados! - gritou alguém.
Um oficial, com um capuz amarelo nos ombros, desembainhou o sabre e, brandindo a lâmina curva de aço, gritou qualquer coisa à multidão que chegava. Os soldados mantinham-se imóveis, alinhados ombro a ombro.
- Que estão eles ali a fazer? - perguntou uma mulher gorda.
Ninguém lhe respondeu e, de repente, pareceu a todos que se tornava difícil caminhar. O grito do oficial atingiu toda a gente:
- Para trás!
Alguns voltaram-se: seguia-os uma massa compacta de corpos na qual desaguava, numa corrente interminável, um escuro rio humano; a multidão afastava-se, cedendo àquela pressão, e vinha entupir a praça, diante da ponte. Alguns dos componentes destacaram-se e avançaram ao encontro do oficial, agitando lenços brancos. Ao avançar, gritavam:
- Vamos ver o nosso soberano...
- Vimos em paz...
- Recuem ou mando abrir fogo!
Quando a ordem do oficial atingiu a multidão, esta respondeu com um eco de surpresa trovejante, cheio de espanto. Que os não deixariam chegar até «ele» já alguns tinham garantido, mas que ainda por cima atirassem sobre o povo que ia até «ele» pacificamente, confiado na força e bondade de que ele não deixaria de dar provas, era algo que destruía a integridade da imagem que tinham criado. «Ele» era uma força maior do que qualquer outra, fosse qual fosse; não receava ninguém, não tinha qualquer razão para rechaçar, à ponta de baioneta e a tiro, o seu povo.
Um homem alto, magro, olhos negros num rosto de fome, exclamou subitamente:
- Abrir fogo? Não te atreverás!
Voltou-se para a multidão e prosseguiu com voz forte e cheia de ódio:
- Afinal, sempre era o que eu dizia: não nos deixam passar...
- Quem? Os soldados?
- Os soldados não, aqueles que estão ali...
Com a mão, indicou um sítio, ao longe...
- Os que estão nos poleiros... Eu bem tinha razão no que dizia.
- Ainda não se pode saber...
- Quando souberem o motivo que nos traz, deixar-nos-ão passar!...
O rumor crescia. Ouviam-se gritos de cólera, exclamações irónicas soavam aqui e além. O bom senso chocava-se contra aquela barreira absurda e silenciava. Os movimentos tornavam-se mais nervosos e mais desordenados; um frio agudo soprava do lado do rio; as pontas imóveis das baionetas faiscavam.
Soltando exclamações e obedecendo à pressão que as empurrava para a frente, as pessoas progrediam. As que tinham avançado com os lenços recuaram obliquamente e desapareceram na multidão. Mas na frente, homens, mulheres e crianças, todos agitavam igualmente lenços brancos.
- Disparar porquê? Com que fim? - exclamava, num tom um pouco enfático, um homem duma certa idade, com a barba grisalha. - Se não nos querem deixar passar pela ponte, podemos simplesmente cortar por cima do gelo...
Repentinamente, um ruído seco e desigual propagou-se no ar, tremeu e veio bater contra a multidão como dezenas de chicotadas. As vozes pareceram ter gelado instantaneamente. E a massa continuava a avançar.
- Balas de pólvora seca! - disse uma voz incolor, que interrogava mais do que afirmava.
Mas aqui e ali ouviam-se gemidos, havia corpos que jaziam aos pés da multidão. Uma mulher, soltando gritos de dor, crispou a mão direita no peito e, com passos rápidos, avançou para a frente, a direito contra as baionetas que a enfrentavam. Outros se precipitaram atrás dela para a segurar, para a ultrapassar.
Ecoou novamente o crepitar duma salva, ainda mais sonora e mais irregular. Os que estavam junto de um tapume ouviram estremecer as tábuas como se tivessem sido mordidas por dentes raivosos. Uma bala ricocheteou ao longo de uma tábua, arrancando aparas miúdas que lançou à cara das pessoas. Os vultos caíam, aos dois e três, dobravam os joelhos e tombavam segurando o ventre, corriam não se sabia para onde, corriam manquejando, rastejavam na neve onde floriam largas manchas de sangue em profusão; alargavam-se, fumegavam, atraíam o olhar... A multidão refluiu, deteve-se um instante, estupefacta, e de súbito rebentou o uivo selvagem e dilacerante de centenas de vozes. Subiu num único jorro e pôs-se a vibrar no ar como uma nuvem estranha de gritos arrepiantes de dor aguda, de horror, de protesto, de perplexidade melancólica, de apelos de socorro.
De cabeça baixa, em grupos reduzidos, as pessoas lançavam-se para a frente para retirar os mortos e os feridos. Estes também gritavam, ameaçando com os punhos; todos os rostos se tinham metamorfoseado e em todos os olhos brilhava uma espécie de loucura. Não se produziu o pânico, esse terror negro colectivo que se apodera bruscamente das pessoas e varre os corpos em amontoados como o vento faz às folhas secas, arrastando-as a todas e lançando-as para longe na cegueira dum turbilhão endemoninhado, na ânsia de encontrar onde se esconder. Havia, sim, horror, que queimava como o ferro gelado, congelava o coração, comprimia o corpo, obrigava a olhar com olhos bem abertos o sangue que a neve absorvia, os rostos, as mãos, as roupas ensanguentadas, os cadáveres terrivelmente calmos no meio da agitação alarmada dos vivos. Havia também uma indignação áspera, um ódio triste e impotente, muitos olhos estranhamente imóveis, sobrolhos carregados e sombrios, punhos crispados, gestos convulsivos e palavras corrosivas. Mas parecia que por cima disso tudo uma fria estupefacção tinha penetrado nos corações e matado a alma. Alguns minutos antes, minutos infelizes, aqueles homens caminhavam para um objectivo que se desenhava claramente, para uma imagem de conto fantástico que se erguia majestosamente perante eles, que eles admiravam, amavam, e com que nutriam de esperanças a alma. Duas descargas, o sangue, os cadáveres, os gemidos, e todos se viram perante um vácuo cinzento, impotentes, com o coração dilacerado.
Revoluteavam sem sair do lugar, como que apanhados numa rede de que se não podiam libertar; uns, sem dizer nada, com ar preocupado, transportavam os feridos, recolhiam os mortos, outros viam o que eles faziam como se estivessem a sonhar, atordoados, perdidos numa estranha apatia. Muitos gritavam censuras aos soldados, insultos, lamentos, gesticulavam, tiravam o boné e saudavam não se sabia quem, ameaçando com a sua cólera terrível.
Os soldados mantinham-se imóveis, com as armas apontadas para o chão; os rostos deles mantinham-se igualmente inertes, a pele tensa nas faces salientes. Dir-se-ia que todos tinham os olhos brancos e os lábios gelados.
Alguém gritou histericamente no meio da multidão:
- Isto é um engano! É um erro, amigos!... Julgaram que éramos outros, não há dúvida! Vamos lá, é preciso explicar...
- Gapone é um traidor! - gritou um jovem, trepando a um candeeiro.
- Vamos, camaradas, bem vêem como «ele» vos recebe...
- Parem! É um erro! Não pode ser de outra maneira, tentem compreender!
- Deixem passar este ferido!
Dois operários e uma mulher transportavam o homem alto e magro; estava coberto de neve e o sangue corria-lhe da manga do sobretudo. O rosto tinha empalidecido, estava ainda mais magro, e os lábios que mexiam lentamente murmuravam:
- Eu bem dizia: não querem deixar passar!... Escondem-no... o que é o povo, para eles?
- Vem aí a cavalaria!
- Fujam!
A parede dos soldados estremeceu e abriu-se como os dois batentes dum portal de madeira para dar passagem aos cavalos que avançaram caracoleando e relinchando; soou o grito dum oficial e os sabres, fendendo o ar faiscante por cima da cabeça dos cavaleiros, brilharam como fitas de prata e apontaram todos na mesma direcção. A multidão ficou ali, vacilando na sua emoção, esperando sem acreditar.
O ruído diminuiu.
- Carregar! - ressoou a ordem, como um grito furioso.
Como se se tivesse levantado um turbilhão e os chicoteasse em pleno rosto, ou a terra tivesse começado a deslizar-lhes debaixo dos pés, todos se lançaram numa corrida, empurrando-se, derrubando-se uns aos outros, abandonando os feridos, saltando por cima dos cadáveres. O pesado martelar dos cascos perseguia-os, os soldados uivavam, os cavalos galopavam no meio dos feridos, dos mortos, daqueles que tinham caído, os sabres cintilavam e os gritos de pavor e de sofrimento faiscavam também: podia ouvir-se de vez em quando o assobio do aço e o choque contra os ossos. Os gritos dos que eram atingidos amalgamavam-se num único gemido prolongado e sonoro:
- Ai-i-i!
Os soldados brandiam o sabre e abatiam-no sobre as cabeças, deslocando-se para um lado com o ímpeto da pancada. No rosto vermelho não se lhes distinguiam os olhos. Os cavalos relinchavam, mostrando os dentes em caretas monstruosas, abanavam a cabeça...
O povo espalhou-se pelas ruas; logo que o ruído dos cascos se sumiu ao longe, as pessoas, sem fôlego, pararam e olharam umas para as outras, de olhos esbugalhados; algumas exibiam tímidos sorrisos culpados, alguém se pôs a rir, gritando:
- Caramba, há muito tempo que não corria tanto!
- Pode continuar! - responderam-lhe.
Mas de repente começaram a chover de todos os lados gritos de espanto, de horror ou de ódio:
- Que quer isto dizer, amigos?
- Isto foi um massacre, irmãos ortodoxos!
- Mas porque?
- Temos um bonito governo!
- Tratam-nos a fio de espada! Espezinham-nos com os cavalos, ha!
Na sua perplexidade, ficavam ali, sem saber como agir e comunicando a sua indignação. Não compreendiam o que se devia fazer, ninguém se ia embora e cada um deles se encostava ao vizinho, tentando encontrar uma saída qualquer para a confusão em que mergulhavam os sentimentos, olhavam-se com uma curiosidade angustiada e, no entanto, mais admirados do que aterrorizados, continuavam a esperar olhando à sua volta. Estavam todos demasiado abatidos, demasiado quebrados pela estupefacção; esse sentimento eclipsava todos os outros e, mantendo-os num estado de espírito anormal, impedia-os de conceber o significado pleno desses minutos inesperados e terríveis na sua inutilidade insensata, saturados do sangue dos inocentes.
Uma voz jovem, enérgica, apelou:
- Eh! Vamos recolher os feridos!
Estremeceram e dirigiram-se com rapidez para a saída da rua que desembocava no rio. Ao seu encontro vinham homens estropiados, cobertos de neve ensanguentada, penetravam na rua a mancar, arrastando-se conforme podiam. Pegavam neles, amparavam-nos, mandavam parar os fiacres, faziam sair os passageiros e conduziam-nos a qualquer parte. Todos tinham agora uma expressão preocupada e mantinham um silêncio pesado. Examinavam os feridos com um olhar profundo, mediam sem dizer nada, comparavam, mergulhados na pesquisa duma resposta a dar à terrível pergunta que se levantava, confusa e informe sombra negra. Ela tinha aniquilado a imagem recentemente inventada desse herói, desse czar, fonte de bem e de clemência. Foram pouco numerosos os que se resolveram imediatamente a reconhecer bem alto que a imagem já estava destruída. Era difícil fazê-lo, porque era privar-se assim da sua única esperança.
O careca do sobretudo remendado passou; o crânio baço estava agora salpicado de sangue, caminhava inclinando a cabeça e o ombro, as pernas dobravam-se-lhe, recusando-se a sustentá-lo. Amparava-o um rapagão de ombros largos e de cabelos ondulados, sem boné, e uma mulher com uma peliça rasgada, de rosto inerte e estupidificado.
- Como é possível isto, Miguel? - murmurava o ferido.
- Disparar sobre o povo não é permitido!... Não pode ser, Miguel!
- Mais foi! - gritou o rapaz.
- Dispararam e acutilaram! - notou a mulher, acabrunhada.
- Isso significa que receberam ordem para fazer isso, Miguel...
- Não há dúvida nenhuma! - disse o rapaz com voz raivosa. - Pensava que iam discutir consigo? Que lhe ofereciam um copo?
- Espera aí, Miguel...
O ferido parou, encostou-se a uma parede e pôs-se a gritar:
- Ortodoxos! Porque nos massacram? Com que direito? Por ordem de quem?
As pessoas passavam junto dele, baixando a cabeça.
Mais longe, na esquina de um muro, algumas dezenas tinham-se reunido em torno dum homem que, com voz precipitada e arquejante, dizia com uma ansiedade cheia de ódio:
- Ontem o Gapone falou com o ministro. Ele sabia tudo o que se ia passar, portanto ele traiu-nos, mandou-nos para a morte.
- Que lhe adiantava isso?
- Sei lá!
Por toda a parte os espíritos aqueciam, cada pessoa via levantar-se diante de si perguntas ainda confusas mas já sentia a importância delas, a sua extensão e a exigência severa e premente de lhes dar resposta. O fogo da agitação consumia rapidamente qualquer fé num auxílio exterior, qualquer esperança num miraculoso libertador da miséria.
Pelo meio da rua caminhava uma mulher forte, mal vestida com uma cara simpática de mãe e grandes olhos tristes. Chorava e, sustentando com a mão direita a esquerda ensanguentada, dizia:
- Como poderei trabalhar? Com que hei-de sustentar os meus filhos? Onde é que o povo encontrará quem o defenda, se o próprio czar é contra ele?
As suas perguntas, sonoras e claras, despertaram as pessoas, alarmaram-nas, abanaram-nas. Vinham ter com ela, acorriam de todos os lados e paravam para a ouvir com uma atenção melancólica.
- Então não há lei que proteja o povo?
Alguns suspiraram, outros praguejaram com voz colérica e contida.
De algures chegou um grito amargo e cheio de ódio:
- Eu recebi ajuda! Quebraram a perna do meu filho!
- Mataram o Pedrinho!
Os gritos eram numerosos, flagelavam os ouvidos e provocavam cada vez mais amplos ecos vingadores, as suas bruscas ressonâncias despertavam a animosidade, a consciência de que era indispensável defenderem-se contra os assassinos. Nos rostos sem cor, surgiu uma decisão.
- Camaradas! Vamos à cidade, apesar de tudo... Talvez se consiga qualquer coisa! Vamos, com todas as precauções.
- Vão-nos massacrar...
- Vamos falar aos soldados. Talvez eles compreendam que não há nenhuma lei que permita massacrar o povo.
- Talvez haja uma! Como posso saber?
A multidão, lentamente mas sem desfalecimento, alterava-se, transfigurava-se em povo. Os jovens destacavam-se em pequenos grupos que iam na mesma direcção, regressavam ao rio. Os feridos e os mortos continuavam a ser transportados, havia por toda a parte um odor de sangue quente, gemidos, exclamações.
- Ao Tiago Zimine a bala apanhou-o no meio da testa.
- Agradeçam ao nosso bom czar!
- Não há dúvida... Recebeu-nos bem.
Ressoavam pragas e maldições. Por uma única daquelas palavras, um quarto de hora antes, a multidão teria feito em pedaços o profanador.
Uma rapariguinha corria, desamparada, e perguntava às pessoas:
- Não viram a minha mãe?
Olhavam-na sem dizer nada e deixavam-na passar. Depois ouviu-se a mulher da mão fracturada:
- Aqui! Estou aqui!
A rua esvaziava-se. Os jovens partiam com uma pressa crescente. Os mais idosos, com expressões tristes, dirigiam-se também para qualquer parte, vigiando os mais novos pelo canto do olho. Falava-se pouco... Apenas, de vez em quando, alguém que não podia conter a amargura, exclamava com voz abafada:
- Então agora repudia-se o povo!...
- Malditos assassinos!
Lamentavam-se os que tinham sido mortos e, adivinhando que tinha igualmente sido morto, daquela maneira, um pesado preconceito de escravos, procuravam não falar disso, não se pronunciava mais esse nome que rasgava o ouvido, a fim de não alarmar mais no coração a tristeza e a cólera.
E talvez se calassem, também, com medo de criar um novo no lugar do que morrera.
...Em torno do palácio do czar mantinha-se uma cadeia apertada e indissolúvel de soldados pardacentos; a cavalaria estava disposta sob as janelas do edifício e, na praça, os canhões apontavam os seus canos curtos com ar de sanguessugas. Um cheiro de feno, de suor e de excrementos de cavalo cercava a residência, e o tilintar do ferro e das esporas, as ordens que se gritavam, o bufar dos animais, tudo isso vibrava sob as janelas cegas do palácio.
Fazendo frente aos soldados, milhares de pessoas desarmadas e cheias de animosidade mantinham-se no frio glacial e, por cima da multidão, subia, como se fosse poeira, o vapor acinzentado das respirações. Uma companhia de soldados, apoiando um dos flancos na parede dum edifício, numa esquina da Perspectiva Nevski, e o outro na grade do jardim, barrava o caminho para a praça do palácio. Muitos civis com roupas diversas, na maioria operários, muitas mulheres e adolescentes, mantinham-se ali, quase a tocar os soldados.
- Dispersem-se, senhores! - dizia em voz baixa um sargento. Andava ao longo da linha, separando com as mãos soldados e civis, esforçando-se por não ver os rostos.
- Porque não nos deixam passar? - perguntavam-lhe.
- Para ir onde?
- Falar com o czar.
O sargento parou por um momento e, com uma expressão próxima do abatimento, exclamou:
- Mas se já vos disse que ele não está lá!
- O czar não está?
- Não! Já disse que não está! Por isso, o melhor é irem embora!
- Foi-se embora de vez? - insistiu uma voz irónica.
O sargento parou novamente e levantou os braços:
- Tenham cuidado com o que dizem.
E acrescentou noutro tom:
- Ele não está na cidade.
- Morreu!
- Vocês mataram-no, patifes!
- Pensavam assassinar o povo?
- O povo, não o terão. Ele chega para tudo...
- Vocês mataram o czar... Estão a ouvir?
- Recuem, senhores! Nada de réplicas!
- Quem és tu? Um soldado! O que é um soldado?
Mais longe, um velhinho com uma barbicha pontiaguda falava aos soldados, cheio de animação:
- Vocês são homens, nós também. Agora vocês usam o capote, mas amanhã voltarão a usar o caftã. Quererão trabalho, a vontade de comer não falta. Mas sem trabalho não há comida. Vocês chegarão ao mesmo ponto em que nós estamos, meus filhos. E então, será preciso disparar contra vocês? Será preciso matar-vos, porque vocês têm fome?
Os soldados tinham frio. Apoiavam-se ora num pé ora noutro, batiam com as solas no pavimento, esfregavam as orelhas, mudavam a espingarda de uma mão para a outra. Ao ouvirem aquelas frases, suspiravam, erguiam ou baixavam os olhos, davam estalidos com os lábios gelados, assoavam-se. Os rostos violáceos de frio apresentavam uma expressão uniforme de desencorajamento embotado; esses soldadinhos de chumbo, pouco mais altos que a espingarda de baioneta calada que seguravam nas mãos, eram a undécima companhia do regimento n.º 144, de Pskov. Alguns deles fechavam um olho como que para fazer pontaria, apertavam os dentes com esforço, decerto irritados contra aquela multidão que os obrigava a ficar ali, a gelar. A triste linha cinzenta respirava o cansaço e o aborrecimento.
Algumas pessoas, empurradas pelos de trás, chocavam de vez em quando contra os soldados.
- Calma! - repetia, a cada impulso, um homem baixinho, de capote cinzento, com voz contida. A multidão gritava com um ardor crescente. Os soldados ouviam, piscando os olhos, os rostos torciam-se em caretas indecisas e aparecia neles algo de lamentável e de tímido.
- Não me toques na espingarda! - disse um deles a um jovem com boné de pele, que apontou um dedo no peito do soldado, dizendo:
- És um soldado, não um carrasco. Chamaram-te para defender a Rússia contra os seus inimigos, mas querem agora obrigar-te a fuzilar o povo... Estás a perceber? O povo é que é precisamente a Rússia!
- Nós não disparamos! - respondeu o soldado.
- Olha à tua frente! É a Rússia que está aí, o povo russo! Ele quer ver o czar...
Alguém o interrompeu com um grito:
- Não, não quer!
- Há algum mal em o povo querer discutir um pouco os seus problemas com o czar? Dize lá, anda!
- Não sei! - respondeu o soldado, cuspindo.
O soldado do lado acrescentou:
- Não podemos conversar...
Soltou um suspiro acabrunhado e baixou os olhos. Um outro soldado perguntou subitamente, com voz suave, àquele que estava à frente dele:
- Somos da mesma terra. Você não é de Riazan?
- Sou de Pskov. Porquê?
- Porque sim. Eu sou de Riazan.
Com um sorriso aberto, sacudiu os ombros num gesto friorento.
As pessoas ondulavam diante do muro cinzento e liso, chocavam-se contra ele como as vagas dum rio contra os rochedos da margem. Refluíam, depois voltavam. Muitos provavelmente, não compreendiam porque estavam ali, o que queriam e o que esperavam. Não se tratava dum fim claramente reconhecido, de determinação resoluta, mas era um amargo sentimento de ofensa e de indignação e, em muitos, um desejo de vingança. Era o que os unia a todos, os retinha nas ruas, mas não tinham ninguém sobre quem descarregar os sentimentos, ninguém sobre quem se vingar... Os soldados não provocavam o ódio, não os irritavam; eram simplesmente estúpidos e infelizes, transidos de frio, muitos tremiam como varas verdes, estremeciam, batiam os dentes.
- Plantados aqui desde as seis da manhã. Que calamidade!
- Deitas-te e rebentas...
- Vocês podiam ir embora, ha! Nós voltaríamos para a caserna, para o quente...
- Que diabo é que vos preocupa? Porque esperam? - dizia o sargento.
As palavras dele, o seu rosto sério, o tom pausado e seguro arrefeciam. Tudo o que ele dizia parecia adquirir um sentido especial, mais profundo do que as simples palavras.
- Esperar não serve de nada. Serve só para fazer sofrer a tropa por vossa causa.
- Vocês vão voltar a disparar contra nós? - perguntou um rapaz que cobria a cabeça com um capuz.
Após uma pausa, o sargento respondeu:
- Se nos derem essa ordem, teremos de a cumprir.
Aquilo provocou uma explosão de frases de reprovação, de palavrões, de motejos.
- Porquê, porquê? - indagava, mais alto do que os outros, um homem forte, ruivo.
- Vocês não obedecem às ordens do comando! - explicou o sargento, coçando uma orelha.
Os soldados ouviam as conversas das pessoas e piscavam os olhos de cansaço. Um deles disse vagarosamente:
- Bebia agora com vontade uma coisa quente!
- Talvez queiras o meu sangue! - retorquiu alguém, com voz cheia de ódio e de repulsa.
- Não sou nenhum animal feroz! - replicou o soldado com expressão ofendida e triste.
Muitos olhares fixavam o largo e achatado semblante da longa linha de soldados com uma curiosidade fria e silenciosa, com desprezo e repugnância. Mas a maioria tentava aquecê-los ao fogo da sua própria excitação, tentava libertar no coração deles algo que a caserna tinha comprimido a fundo, assim como na cabeça entupida com o bricabraque de educação militar. A maior parte das pessoas desejava agir, realizar de uma maneira ou de outra aquilo que sentia e pensava, chocando-se obstinadamente contra aquelas pedras cinzentas e frias que tinham apenas um desejo: o de se aquecerem.
As frases soavam cada vez mais ardentes e as palavras mais exaltadas.
- Soldados! - dizia um camponês atarracado, com uma grande barba e olhos azuis. - Vocês são filhos do povo russo. Puseram o povo na miséria, esqueceram-no, deixam-no sem protecção, sem pão e sem trabalho. E hoje o povo veio pedir auxílio ao czar, e o czar ordena que vocês disparem sobre o povo, ordena que o massacrem. Já dispararam na ponte da Trindade e mataram pelo menos uma centena de pessoas. Soldados, o povo são os vossos pais, os vossos irmãos, o povo não se mete em trabalhos apenas por ele mas também por vocês. Põem-vos contra o povo, obrigam-vos a matar pais e irmãos. Pensem um momento! Não compreendem que é contra vocês próprios que disparam?
A voz afável e calma do velho, o rosto bom com a sua barba branca, toda a fisionomia e as suas palavras simples e justas emocionavam visivelmente os soldados. Baixavam os olhos e ouviam-no com atenção; um suspirava abanando a cabeça, outros franziam os sobrolhos e olhavam à sua volta, um outro advertiu-o com voz abafada:
- Afasta-te, o oficial acabará por te ouvir.
Este, grande, aloirado, com bigodes pequenos, caminhava lentamente ao longo da fileira e, calçando a luva na mão direita, dizia entre dentes:
- Circulem!... Vão-se embora!... Que é isso? Atrevem-se a discutir? Eu lhes darei a discussão!
Tinha um rosto espesso, rubicundo, e olhos redondos claros mais sem brilho. Caminhava sem pressa, batendo com os pés no chão, mas com a sua chegada o tempo precipitou-se como se cada segundo se apressasse a desaparecer com receio de se encontrar ligado a um ultraje odioso. Atrás dele, como se accionasse uma régua invisível que alinhava a fileira da tropa, os soldados encolhiam as barrigas, enchiam o peito, lançavam uma olhadela à biqueira das botas. Alguns apontavam com os olhos o oficial, à multidão, e faziam esgares coléricos. Este parou num dos flancos e comandou:
- Sentido!
Os soldados moveram-se e inteiriçaram-se.
- Ordeno-vos que disperseis! - gritou ele, desembainhando o sabre vagarosamente.
Dispersar era materialmente impossível: a multidão tinha submerso toda a praça com a sua massa compacta e da rua, lá atrás, continuava a desembocar gente.
O oficial era olhado com ódio, ouvia as zombarias, os palavrões, mas mantinha-se firme, imóvel sob a avalanche. O olhar morto examinava a sua companhia, as sobrancelhas ruivas mal estremeciam. A multidão começou a trovejar com mais força, aquela calma irritava-a visivelmente.
- É este que quer dar ordens!
- Mesmo sem ter ordem, está pronto a fazer sangue!
- Parece um arenque...
- Eh, patrãozinho, estás pronto para o massacre?
Uma impetuosidade provocante crescia, uma intrepidez descuidada, os gritos eram mais altos, os impropérios mais violentos.
O sargento olhou para o oficial, estremeceu, ficou pálido e, por sua vez, desembainhou o sabre rapidamente.
Subitamente soou um toque sinistro. A multidão olhou para o clarim: o soldado inchava as bochechas e arregalava tão curiosamente os olhos que todo o rosto parecia prestes a estalar; o clarim tremia-lhe na mão e o toque era demasiado longo. As pessoas abafaram o grito fanhoso do cobre com um assobio sonoro, ululando, soltando sons esganiçados, maldições, censuras, gemidos de impotência, gritos de desespero e de audácia provocados pela sensação de que era possível morrer de repente e era impossível escapar. Não havia um sítio para onde fugir da morte. Alguns vultos atiraram-se ao chão, outros escondiam o rosto nas mãos, enquanto o homem da barba branca, que abrira o sobretudo no peito, se mantinha à frente de todos, com os olhos azuis fixos nos soldados, pronunciando palavras que se afogavam no caos dos gritos.
Os soldados brandiram as espingardas, apontaram e colocaram-se todos na posição do caçador à espreita, com a baioneta dirigida contra a multidão.
Via-se a fileira de baionetas suspensa, agitada, irregular; umas estavam demasiado para cima, as outras inclinavam-se muito para o chão, poucas eram as que efectivamente apontavam a direito para os peitos, e todas pareciam moles, tremiam e tinham o ar de se derreter, de vergar.
Uma voz sonora gritou com uma repulsa misturada de horror:
- Que estão a fazer, assassinos?
Um frémito violento, desigual, percorreu as baionetas, uma rajada assustada partiu, as pessoas oscilaram, projectadas para trás pelo ruído, pelas balas, pela queda dos mortos e dos feridos. Alguns, sem dizer palavra, lançaram-se numa corrida para escalar a grade do jardim. Uma nova rajada, depois outra. Um garotinho, surpreendido na grade por uma bala, dobrou-se subitamente e ficou suspenso, de cabeça para baixo. Uma mulher, alta e esbelta, com uma cabeleira vaporosa, soltou um gemido frágil e caiu molemente junto dele.
- Ah, malditos!... Malditos! - gritou alguém.
O local tornou-se mais amplo e mais calmo. As filas da retaguarda da multidão fugiam para as ruas, metiam-se nos pátios, recuavam obedecendo a golpes invisíveis. Entre ela e os soldados formou-se um espaço de alguns metros todo coberto de corpos. Uns levantavam-se e fugiam a toda a pressa para o lado dos seus, outros erguiam-se com penosos esforços deixando manchas de sangue e afastavam-se, titubeantes, seguidos pelo rasto sangrento. Muitos jaziam imóveis, deitados de barriga e de costas, ou de lado, mas todos na estranha tensão do corpo que foi apanhado pela morte quando parecia tentar furtar-se-lhe às garras...
Espalhava-se no ambiente um odor de sangue. Lembrava o hálito quente e um pouco salgado do mar ao crepúsculo dum dia tórrido, um cheiro mórbido e inebriante que despertava uma sede terrível de encher com ele as narinas, longamente. Um cheiro que corrompe e perverte a imaginação como o sabem os carniceiros, os soldados e outros assassinos profissionais.
A multidão, ao recuar, soltava as suas maldições, vociferava, os gritos de dor fundiam-se num turbilhão desordenado com os assobios, os choques e os lamentos; os soldados mantinham-se imperturbáveis, tão imóveis como os mortos. Tinham o rosto cor de cinza, lábios cerrados, como se também eles quisessem gritar e assobiar, mas não conseguissem resolver-se a tal e se retivessem. Olhavam à sua frente com olhos escancarados que já não piscavam. Não se detectava no seu olhar nada de humano, pareciam não ver, assemelhavam-se a pontos vazios e embaciados na superfície tensa dos rostos. Recusavam-se a ver, talvez com o secreto receio de que a vista do sangue quente que tinham feito derramar lhes desse vontade de repetir a proeza. As espingardas tremiam-lhes nas mãos, as baionetas ondulavam, furando o ar. Mas esse arrepio dos corpos não podia sacudir a impassibilidade estúpida daqueles homens, nos quais se tinha abafado o coração ao tiranizar a vontade e cujos cérebros tinham sido aglutinados numa repugnante mentira em decomposição. O homem barbudo, de olhos azuis, levantou-se do chão e dirigiu-se novamente a eles, a voz entrecortada e o corpo trémulo:
- A mim, vocês não me mataram, porque eu disse-vos a santa verdade...
A multidão regressava, lenta e sombria, para recolher os mortos e os feridos. Alguns homens vieram juntar-se aquele que falava com os soldados e, interrompendo-o, puseram-se também a gritar, a exortar, a acusar, sem rancor, com o coração taciturno e cheio de compaixão. Nas vozes deles ainda sobrevivia a fé ingénua na vitória da palavra justa, o desejo de demonstrar a insensatez, a loucura da crueldade, de tornar os soldados conscientes daquele erro penoso; desenvolviam todos os seus esforços para os levar a compreender a infâmia e o horror do seu papel involuntário.
O oficial tirou o revólver do coldre, examinou-o com atenção e encaminhou-se para o grupo. Os homens afastavam-se dele sem pressa, como se faz a uma pedra que rola lentamente por uma encosta. O barbudo de olhos azuis não se mexia e acolheu-o com ardentes censuras, mostrando num gesto largo todo o sangue derramado:
- Como pensa justificar isto? Não há justificação!
O oficial deteve-se diante dele, franziu um sobrolho, com ar preocupado, depois alongou o braço. Não se ouviu a detonação, viu-se o fumo cercar a mão do assassino, uma vez, duas vezes, depois uma terceira. Ao último tiro, o homem dobrou as pernas, tombou para trás e, agitando a mão direita, caiu. De todos os lados houve pessoas que se lançaram sobre o assassino: ele recuou, com o sabre ao alto e a ameaçar todos com o revólver... Um adolescente caiu-lhe aos pés e ele furou-lhe o ventre com um golpe de sabre. Rugia, saltava, oscilava para todos os lados como um cavalo teimoso. Alguém lhe lançou o boné à cara, bombardeavam-no com bolas de neve ensanguentada. O sargento acorreu em seu socorro com alguns soldados de baionetas apontadas e os manifestantes dispersaram. O vencedor acompanhou-os com ameaças, brandindo o sabre, depois baixou subitamente e enfiou-o uma vez mais no corpo do adolescente que lhe rastejava aos pés perdendo sangue.
Soou novamente o toque roufenho do clarim, e as pessoas evacuaram precipitadamente a praça ao ouvi-lo alongar-se no ar em finas volutas, como se pretendesse dar o último arranjo aos olhos vazios dos soldados, à bravura do oficial, à ponta vermelha do seu sabre e aos seus bigodes assanhados.
O vermelho vivo do sangue irritava o olhar e atraía-o, provocando o desejo perverso e embriagador de ver ainda mais, de o ver por toda a parte. Os soldados tinham o ar de estarem na expectativa, mexiam o pescoço e procuravam com os olhos, ao que parecia, novos alvos vivos para as suas balas.
O oficial, num dos flancos, brandia o sabre e gritava com voz sacudida pela cólera desencadeada.
Em resposta vieram gritos de várias direcções:
- Carrasco!
- Filho da mãe!
Ele achou-se no dever de corrigir o alinhamento dos bigodes. Soou uma nova rajada, depois outra...
As ruas regurgitavam de gente, como sacos cheios de grão. Aqui havia menos operários, os pequenos comerciantes e empregados dominavam. Já alguns deles tinham visto o sangue e os cadáveres, outros tinham sido batidos pela polícia. A angústia tinha-os tirado das suas casas, encaminhado para a rua, e eles disseminavam o seu alarme, exagerando o aspecto horroroso daquele dia. Homens, mulheres e adolescentes, todos olhavam em torno, com ansiedade, e esperavam apurando o ouvido. Relatavam uns aos outros os massacres, lamentavam-se, praguejavam, interrogavam os operários levemente feridos, baixavam por vezes as vozes quase até ao murmúrio para comunicarem coisas em segredo. Ninguém compreendia o que era necessário fazer, ninguém regressava a casa. Sentiam, adivinhavam que atrás daqueles assassinos se escondia algo de importante, de mais profundo e mais trágico para eles do que aquelas centenas de mortos e feridos que não pertenciam à sua classe.
Mergulhados até aquele dia numa espécie de inconsciência, tinham vivido de noções confusas, amadurecidas sem que se soubesse quando nem como, a respeito do poder, da lei, das autoridades, dos seus próprios direitos. O carácter impreciso dessas noções não os impedia de rodear os cérebros de uma rede espessa e compacta, de os cobrir com uma grossa casca escorregadia; tinham-se habituado a pensar que existia na vida uma força que devia e podia defendê-los: a lei. Adquiriram desse modo a certeza de se encontrarem em segurança, ao abrigo de pensamentos importunos. As coisas não corriam mal e, embora a vida atacasse essas nevoentas noções com dezenas de fissuras, choques e arranhadelas, e algumas vezes reveses sérios, nem por isso eles deixavam de estar solidamente ancorados; conservavam a sua morta dignidade e as arranhadelas e fissuras cicatrizavam muito depressa.
Mas hoje, subitamente despojado, o cérebro deles teve um arrepio e o peito foi dominado por uma angústia glacial. Todo aquele depósito formado pelo hábito foi sacudido, quebrou e desapareceu. Todos se sentiam, com maior ou menor lucidez, triste e terrivelmente isolados, sem defesa perante uma força cínica e cruel que não reconhecia direito ou lei. Mantinha todas as vidas entre as suas mãos e podia, com uma total inconsciência, semear a morte nessa massa, podia aniquilar os vivos à sua vontade, conforme o seu apetite. Ninguém a podia reter; recusava-se a falar fosse a quem fosse. Era toda-poderosa e mostrava cabalmente a desmesura do seu império, juncando absurdamente as ruas de cadáveres, inundando-as de sangue. O seu delirante capricho sanguinário era claramente visível. Inspirava uma angústia unânime, um terror corrosivo que esvaziava a alma. Sacudida insistentemente a razão, levando-a a criar os planos duma nova defesa do indivíduo, novas construções para a salvaguarda da vida.
De cabeça baixa, balouçando as mãos ensanguentadas, passava um homem robusto, atarracado. Tinha a parte da frente do sobretudo inundada de sangue.
- Está ferido? - perguntou alguém.
- Não!
- Então, esse sangue?
- Não é meu! - respondeu ele sem se deter.
Repentinamente imobilizou-se, olhou à sua volta e pôs-se a falar estranhamente alto:
- Não é o meu sangue, senhores... É o sangue dos que tinham fé...
Sem terminar, prosseguiu o seu caminho, baixando novamente a cabeça.
Agitando os seus curtos chicotes, um destacamento de cavalaria irrompeu no meio da multidão. As pessoas lançaram-se para todos os lados, para escaparem, esmagando-se umas às outras, escalando os muros. Os soldados estavam embriagados, oscilavam nas selas com um sorriso estúpido e, por vezes, como que por engano, chicoteavam cabeças e ombros. Um homem que tinha sido atingido caiu, mas pôs-se em pé imediatamente e gritou:
- Eh, bruto!
O soldado tirou rapidamente a carabina e disparou à queima-roupa, continuando a galopar. O homem tornou a cair e o soldado deu uma gargalhada.
- Que estão a fazer? - gritava apavorado um senhor respeitável, bem posto, voltando para todos os lados uma expressão alterada. - Os senhores viram isto?!
O rumor agitado e trovejante das vozes entregues ao tormento do medo, à angústia do desespero, espalhava-se numa onda contínua: alguma coisa ganhava corpo e vinha, com lentidão imperceptível, unir um pensamento mal formado, ressuscitado de entre os mortos e pouco habituado a trabalhar.
Mas havia ali pessoas da sociedade.
- No entanto, não esqueçamos que ele insultou o soldado.
- Mas o soldado tinha-o chicoteado!
- Ele devia ter-se afastado.
No enquadramento dum portão, duas mulheres e um estudante ligavam o braço dum operário, atravessado por uma bala. O homem torcia a cara, olhava à sua volta franzindo a testa, e dizia aos que o cercavam:
- Não tínhamos qualquer intenção escondida, isso só o podem dizer os filhos da mãe e os bufos. Íamos a descoberto. Os ministros sabiam o que íamos fazer; entregámo-lhes cópias da nossa petição. Se não podíamos ir, esses sacanas tiveram tempo de nos avisar; não nos reunimos à última hora... Todos sabiam, tanto os ministros como a polícia. São uns bandidos...
- Mas, afinal, que iam pedir? - quis saber um velho de cabelos brancos, magro, com um tom sério e compenetrado.
- Íamos pedir que o czar convocasse representantes do povo e tratasse com eles os assuntos, e não com os funcionários. Esses crápulas têm saqueado a Rússia, têm roubado toda a gente.
- Efectivamente... era preciso um controlo! - comentou o velhinho.
A ferida do operário estava ligada e desceram-lhe com precaução a manga da camisa.
- Obrigado a todos! Eu bem dizia aos meus camaradas: vamos lá para nada! Não conseguiremos coisa nenhuma... Agora está feita a prova!
Enfiou cuidadosamente o braço entre os botões do sobretudo e afastou-se sem pressa.
- Ouviu o modo como eles raciocinam? Isto, meu caro...
- Si-im!, mas apesar de tudo, organizar uma tal carnificina...
- Hoje tocou-lhe a ele, amanhã pode ser a mim...
- Si-im!
Mais adiante, discutia-se acaloradamente:
- Ele podia não saber!
- Mas então para que diabo é que «ele» existe?
Os que tentavam, porém, ressuscitar o morto já eram raros e não atraíam ninguém. Limitavam-se a provocar a animosidade com as suas tentativas de levar o fantasma a renascer. Caíam em cima deles como de inimigos e, tomados de pânico, desapareciam.
Uma bateria de artilharia desembocou na rua, comprimindo a multidão. Os soldados, a cavalo ou sentados nos bancos da frente, olhavam pensativamente diante de si, por cima das cabeças; as pessoas esmagavam-se para lhes dar passagem, envoltas num silêncio taciturno. Os arreios tilintavam, as munições ressoavam e os canhões sacudiam os reparos, fixando atentamente o solo como se o cheirassem. O comboio tinha um aspecto de funeral.
Ouvia-se algures o crepitar de uma fuzilaria. Todos ficaram atentos, parados. Alguém disse baixinho:
- Ainda mais!
Repentinamente, um frémito de animação correu ao longo da rua.
- Onde? Onde?
- Na ilha... A ilha Vassilievski...
- Ouviram?
- Não pode ser verdade.
- Palavra de honra! Tomaram de assalto o arsenal...
- Oh!
- Serraram os postes telegráficos e fizeram uma barricada...
- Essa agora!
- São muitos?
- São!
- Ah, se ao menos eles pudessem fazer pagar caro o sangue dos inocentes!
- Vamos lá?
- Ivan Ivanovitch, vamos lá, ha!
- Hum... é que... vocês sabem...
Um vulto apareceu por cima da multidão e um apelo sonoro soou na escuridão:
- Quem se quer bater pela liberdade? Pelo povo, pelo direito do homem à vida e ao trabalho? Os que quiserem morrer combatendo pelo futuro venham auxiliar.
Alguns dirigiram-se a ele e formou-se no meio da rua um núcleo compacto de corpos; os outros afastaram-se.
- Vêem a que ponto o povo está exasperado?
- É absolutamente legal, absolutamente!...
- É uma pura loucura... ai de nós!
As pessoas mergulhavam na sombra da noite, regressando cada um a sua casa, e levavam consigo uma angústia ainda desconhecida, uma sensação inquietante de solidão, misturadas com a semiconsciência do drama da sua vida, privada de direitos e desprovida de significado, vida de escravos. E estavam dispostos a tirar partido, sem demora, de tudo o que se apresentasse de oportuno e de lucrativo.
O medo instalava-se. A obscuridade tinha rompido o laço que unia as pessoas, laço frágil do interesse exterior. E todos aqueles em que não brilhava a chama apressavam-se a regressar ao seu canto ainda mais depressa.
Já estava escuro mas ainda não tinham acendido as luzes.
- Os dragões! - gritou uma voz rouca.
Um pequeno destacamento de cavalaria voltou subitamente a esquina da rua, os cavalos hesitaram um instante, depois lançaram-se a toda a brida sobre as pessoas. Os soldados soltavam uivos estranhos que tinham ressonâncias que não eram humanas, sombrias e cegas, aparentadas incompreensivelmente com um desespero melancólico. Na escuridão, homens e cavalos tornaram-se pequenos e negros. Os sabres faiscavam com um brilho amortecido, os gritos eram mais raros e ouviam-se melhor os golpes.
- Batam com o que tiverem à mão, camaradas! Olho por olho... Casquem-lhes!
- Fujam!
- Tem cuidado, cavaleiro! Não me tomes por um mujique!
- Camaradas! À pedrada!
Atirando ao chão os pequenos vultos negros, os cavalos saltavam, relinchavam, bufavam; o aço tilintava, ouvia-se uma voz de comando:
- Pelotão!
Uma corneta lançava um apelo precipitado e nervoso. As pessoas corriam, atropelavam-se, caíam. A rua esvaziava-se e, no centro, havia montes escuros, enquanto para lá da esquina ressoava o rápido e pesado martelar dos cascos.
- Está ferido, camarada?
- Estou convencido de que me cortaram a orelha.
- Não se podia fazer nada! Com as mãos vazias...
O eco dum novo tiroteio chegou até à rua.
- Aqueles bandidos não se cansam!
Silêncio. Passos apressados. É estranho que haja tão pouco ruído, que nada se mova nesta rua. De todos os lados sobe um rumor de trovão, húmido, como se o mar tivesse invadido a cidade.
Ali perto, um gemido abafado vibra nas trevas. Alguém corre e respira, arquejante.
Uma pergunta angustiosa:
- Estás ferido, Tiago?
- Não te preocupes, não é nada! - responde uma voz rouca.
Na esquina por onde desapareceram os dragões, aparece novamente uma multidão que corre numa vaga espessa e negra a toda a largura da rua. Alguém que caminha na frente, que não se distingue no meio da multidão, no escuro, diz:
- Hoje, ao derramarem o nosso sangue, levaram-nos a um voto: daqui em diante devemos ser cidadãos.
Outra voz interrompeu, com um soluço nervoso:
- Sim, mostraram-se bem nossos pais!
Alguém pronunciou num tom de ameaça:
- Não esqueceremos este dia.
Caminhavam depressa, em massa compacta, falavam muitos ao mesmo tempo, as vozes mesclavam-se no caos de um rumor lúgubre e sombrio. Por vezes, alguém elevava a voz até ao grito, abafando por um momento todas as outras.
- Quantos teriam matado?
- E qual o motivo?
- Não, não é possível que este dia venha a ser esquecido.
Um pouco afastada, ressoou uma exclamação rouca, quebrada, sinistra como uma profecia:
- Sim, escravos, esquecereis! Que significa para vocês o sangue dos outros?
- Cala-te, Tiago!
A escuridão e o silêncio aumentaram. As pessoas caminhavam lançando olhares para o lado da voz e resmungavam.
Da janela duma casa saía cautelosamente para a rua um raio de luz amarelado. No clarão que ela provocava, junto de um candeeiro, distinguiam-se dois vultos negros. Um, sentado no chão, estava encostado ao poste, o outro, inclinado para ele, pretendia certamente levantá-lo. E, uma vez mais, um deles exclamou com surda tristeza:
Escravos...
Máximo Gorki
A VELHA IZERGUIL
Ouvi estes relatos perto de Akkerman, na Bessarábia, à beira-mar.
Uma noite, terminada a vindima quotidiana, o grupo de moldavos com quem eu trabalhava foi até à praia. A velha Izerguil e eu ficámos, deitados no chão, na sombra espessa das cepas, vendo em silêncio os vultos dos que iam para o lado do mar diluírem-se na névoa profunda da noite.
Caminhavam, cantavam, riam; os homens, morenos, com fartos bigodes pretos e caracóis espessos que lhes caíam para os ombros, com camisas russas e amplas bombachas cossacas; as mulheres e as raparigas alegres e vivas, bronzeadas como eles e de olhos azul-escuros. Tinham os cabelos negros e sedosos, desfeitos, e o vento, morno e suave, brincava fazendo tilintar as moedas neles entrançadas. A brisa soprava numa onda larga e regular, mas às vezes parecia saltar por cima de um obstáculo invisível, lançava uma rajada mais forte e fazia ondular os cabelos das mulheres como crinas fantásticas por cima das cabeças. Isso dava-lhes um ar estranho e fabuloso. E à medida que se iam afastando, a noite e a imaginação tornavam-nas cada vez mais belas.
Alguém tocava violino; uma das raparigas cantava com uma voz suave de contralto e chegava até nós o som dos risos.
O ar estava impregnado com o cheiro áspero da maresia e das emanações gordurosas da terra abundantemente molhada pela chuva que caíra ao princípio da noite. Pelo céu erravam ainda farrapos de nuvens, sumptuosos, de contornos e de cores estranhas, aqui delicados como espirais de fumo cinzento e azul-escuro, além nítidos como blocos rochosos, negros, castanho-escuros ou foscos. Entre eles brilhavam, com uma luz suave, parcelas de céu azul, semeadas de pequenas manchas douradas: as estrelas, tudo aquilo, sons, perfumes, nuvens e homens, era estranhamente belo e triste e parecia o início de um conto maravilhoso. Dir-se-ia que tudo tinha detido o seu crescimento e se deixava morrer; o ruído das vozes extinguia-se ao longe e transformava-se em suspiros tristes.
- Porque não foste com eles? - perguntou a velha Izerguil, apontando com o queixo para o lado da praia.
A idade tinha-a dobrado, os olhos, outrora negros, eram agora embaciados e lacrimejantes. A voz, seca, tinha sons estranhos, quebrados, como se falasse com os ossos.
- Não me apetece! - respondi.
- Hum!... Vocês, os Russos, já nascem velhos. Todos tristes como demónios... As nossas raparigas têm medo de ti... E no entanto és jovem e forte!
A Lua tinha-se levantado no céu. O seu enorme disco, cor de sangue, parecia ter saído das profundidades daquela estepe que tinha, ao longo dos séculos, devorado tanta carne humana e bebido tanto sangue que era decerto isso o que a tornara tão forte e generosa. As sombras rendilhadas da folhagem caíam em cima de nós, cobriam-nos como uma rede. Através da estepe, à nossa esquerda, passaram as sombras das nuvens impregnadas de esplendor azulado da Lua; tinham-se tornado mais transparentes e mais claras.
- Olha, ali vai Larra!
Olhei para o lado que a velha apontava com a mão trémula de dedos torcidos: lá ao fundo passavam sombras numerosas; uma delas, mais escura e mais densa que as outras, corria mais depressa e mais baixo que as irmãs, projectada por um farrapo de nuvem que vogava mais perto da terra e mais rapidamente.
- Não vejo ninguém! - disse eu.
- És mais cego que uma velha como eu. Olha lá para baixo, lá vai ele, escuro, correndo através da estepe.
Olhei mais uma vez e novamente nada mais vi além daquela sombra.
- É uma sombra. Porque lhe dás o nome de Larra?
- Porque é ele. Sim, agora é como uma sombra, já há muito tempo. Vive há milhares de anos, o sol mirrou-lhe o corpo, o sangue e os ossos, transformou-os em pó que o vento dispersou. Eis o que Deus pode fazer dum homem para lhe castigar o orgulho.
- Conta-me como as coisas se passaram - pedi eu, pressentindo um desses belos contos criados nas estepes.
Foi assim que ela me relatou o que segue:
- Desde essa época passaram milhares e milhares de anos. Para além do mar, muito longe, na direcção do sol-nascente, alonga-se a região dum grande rio onde cada folha de árvore e cada folha de erva fornecem ao homem a sombra necessária para se proteger dum sol atroz. Nessa região, a terra é extremamente generosa. Vivia ali uma tribo poderosa cujos homens apascentavam rebanhos, utilizavam na caça às feras a força e a coragem de que dispunham, banqueteavam-se depois da caça, cantavam canções e brincavam com as raparigas.
«Um dia, durante um banquete, uma delas, uma rapariga de cabelos pretos, suave como a noite, foi arrebatada por uma águia que descera do céu. As flechas que os homens dispararam recaíram no solo, lastimosamente. Então partiram em busca da jovem, mas não a encontraram. E depois esqueceram-na, como se esquece tanta coisa da terra.»
A velha suspirou e calou-se. A voz estridente parecia o protesto dos séculos esquecidos que as sombras da recordação lhe encarnavam no peito. O mar acompanhava docemente o prólogo duma das antigas lendas que foram talvez criadas nas suas margens.
- Mas, vinte anos depois, ela regressou por si própria, ressequida, esgotada, e com ela vinha um jovem, belo e forte como ela tinha sido vinte anos antes. Quando lhe perguntaram onde tinha estado, contou que a águia a tinha transportado para as montanhas e que, lá no alto, a tinha tornado sua mulher. Aquele era o seu filho, o pai já não existia; quando as forças lhe tinham começado a declinar, tinha-se erguido uma última vez até ao alto do céu, recolhera as asas e deixara-se tombar sobre as cristas aguçadas da montanha, entregando-se à morte.
«Todos olhavam o filho da águia com admiração e notavam que ele não era melhor do que eles; só os olhos eram frios e altivos como o do rei dos pássaros. Quando lhe falavam, respondia se lhe apetecia ou calava-se; e quando os velhos da tribo se aproximaram falou com eles de igual para igual. Eles ficaram chocados, chamaram-no «flecha desplumada de ponta romba», disseram-lhe que milhares de seus semelhantes e duas vezes mais idosos do que ele os respeitavam e se lhes submetiam. Mas ele olhava-os audaciosamente e respondeu que não havia homens como ele; que o mundo inteiro podia honrá-los mas que ele o não faria. E então eles zangaram-se realmente e disseram:
- Não há lugar para ele no nosso meio. Que vá para onde lhe apetecer!»
«Ele soltou uma gargalhada e foi para onde lhe apeteceu, para junto de uma bela rapariga que o olhava fixamente; foi ter com ela e tomou-a nos braços. Mas era a filha de um dos Velhos que o tinham repudiado. Embora ele fosse belo, ela afastou-o porque temia o pai. Afastou-o e quis ir embora; mas ele bateu-lhe e, quando ela estava no chão, pôs-lhe o pé no peito com uma tal violência que o sangue lhe jorrou para o céu através dos lábios; a rapariga soltou um suspiro, torceu-se como uma serpente e morreu.
«Todos os que ali estavam ficaram petrificados de espanto: era a primeira vez que viam matar assim uma mulher. Mantiveram-se mudos durante muito tempo, olhando a rapariga que jazia no solo com os olhos abertos e a boca sangrenta, e, ao lado dela, o homem que se erguia sozinho contra todos, orgulhoso, sem baixar a cabeça e como que desafiando o castigo. Quando vieram a si, apoderaram-se dele, amarraram-no e deixaram-no assim, considerando que era demasiado simples matá-lo imediatamente e que isso não os poderia satisfazer.»
A noite crescia, tornava-se espessa e enchia-se de ruídos estranhos. As marmotas assobiavam tristemente na estepe; a estridulação cristalina dos grilos estremecia nas folhas das videiras, a folhagem suspirava e murmurava, o disco da lua cheia, há pouco vermelho de sangue, empalidecia, à medida que se afastava da Terra, e a estepe inundava-se cada vez mais amplamente com o seu brilho azulado.
Então os homens reuniram-se para imaginar um castigo digno do crime. Pensaram esquartejá-lo por meio dos cavalos, mas isso pareceu-lhes pouco; quiseram atravessar-lhe o corpo com uma flecha de cada um, mas puseram também essa solução de parte; propuseram-se queimá-lo, mas o fumo da pira não os deixaria ver os tormentos que sofresse; passaram em revista várias penas mas não encontraram nenhuma que agradasse a todos. E a mãe mantinha-se de joelhos, diante deles, sem encontrar lágrimas ou palavras com que implorasse o perdão. Discutiram longamente e foi então que um velho sábio disse, após longa meditação:
- Perguntemos-lhe a razão que o levou a fazer isto.
- Fizeram-lhe a pergunta. E ele disse:
- Desamarrem-me! Não falarei enquanto estiver ligado!
Depois de o terem feito, perguntou:
- Que querem?
Fê-lo no mesmo tom com que falaria a escravos.
- Ouviste muito bem... - disse o sábio.
- Por que razão vos explicaria os meus actos?
- Para que os possamos compreender. Ouve, orgulhoso: de qualquer modo vais morrer, não é verdade? Deixa-nos compreender o que fizeste. Nós vamos continuar a viver e é-nos útil aumentar os nossos conhecimentos.
- Muito bem, falarei, embora eu próprio não esteja certo de compreender o que se passou. Matei-a, segundo me parece, porque me repeliu... E eu tinha necessidade dela.
- Mas ela não era tua! - responderam-lhe eles.
- E acaso vos servis apenas do que é vosso? Vejo que cada homem tem apenas de seu a sua palavra, os seus braços, as suas pernas... e reina sobre os animais, sobre as mulheres, sobre a Terra... sei lá sobre que mais ainda.
Responderam-lhe que de tudo o que torna o homem paga com alguma coisa de si mesmo: com a sua inteligência, a sua força, por vezes com a sua vida. E ele retorquiu que se queria manter inteiro.
Falaram durante muito tempo e, finalmente, os Velhos perceberam que o jovem se considerava o primeiro sobre a Terra, e que não via nada nem ninguém fora de si mesmo. Sentiram-se apavorados quando compreenderam a que solidão ele se tinha condenado. Não possuía tribo, nem mãe, nem rebanho, nem mulher, e não pretendia nada disso.
Ao apreenderem essa verdade, puseram-se a discutir o castigo. Mas desta vez não falaram durante muito tempo; o sábio deixou-os dar a sua opinião, depois tomou a palavra:
- Parem! Há um castigo; um castigo terrível; não encontrareis outro semelhante num milhar de anos! O castigo está nele próprio. Soltem-no e deixem-no ir, livre. Esse é o seu castigo.
Então passou-se algo de grandioso. O trovão reboou pelos céus, apesar de não haver nuvens. As forças celestes confirmavam assim a opinião do sábio. Todos se inclinaram e se separaram. E o jovem - que agora recebera o nome de Larra, que quer dizer banido, condenado - riu alto ao ver partir os homens que o tinham expulso, riu por ficar só, livre como o pai... Mas ele era um homem. Então pôs-se a viver sem lei como o pássaro. Vinha à tribo e roubava gado, raparigas, tudo aquilo de que tinha necessidade. Disparavam contra ele mas as flechas não podiam atravessar-lhe o corpo coberto pela protecção invisível do castigo supremo. Era astucioso, ávido, vigoroso, cruel e nunca defrontava os homens frente a frente. Só o viam de longe. Durante muito tempo, manteve-se assim, solitário, rodando em torno dos homens, muito tempo, dezenas de anos. Mas um dia aproximou-se deles e quando se lançaram contra ele não fez um gesto para se defender.
Então um dos homens adivinhou o que se passava e gritou:
- Não lhe toquem! Ele quer morrer!
Todos se detiveram porque não queriam aligeirar a sorte daquele que lhes tinha feito mal, não desejavam matá-lo. Pararam e escarneceram-no. Ele tremia ao ouvir-lhes o riso e, com as mãos crispadas, procurava incessantemente alguma coisa no peito. Repentinamente, pegou numa pedra e arremessou-a contra eles; evitaram essa e as que se lhe seguiram, mas não retribuíram, e quando, com um grito angustiado, ele tombou no solo, esgotado, afastaram-se um pouco e ficaram a observá-lo. Ele ergueu-se, apanhou um punhal que tinha caído na luta e tentou espetá-lo no peito. A arma quebrou-se como se tivesse chocado contra uma pedra. De novo se deixou tombar e bateu com a cabeça contra o solo durante muito tempo. Mas o solo amolecia debaixo dele e afundava-se com as pancadas.
- Ele não pode morrer! - disseram os homens alegremente.
Partiram, deixando-o só. Ficou deitado, com o rosto voltado para o céu, vendo planar nas alturas, como pequenos pontos negros, as águias poderosas. Havia nos olhos dele uma angústia tão grande que daria para envenenar todo o género humano. Desde aquele dia, mantém-se solitário, à espera de morrer; anda ao acaso, de um lado para outro. Está agora como uma sombra e ficará assim para a eternidade. Não compreende a linguagem dos homens, nem os actos deles, nada... Procura constantemente, vai e vem... Deixou de amar a vida e a morte não lhe sorri. Não tem lugar entre os homens... Vê como um homem foi castigado pelo seu orgulho!»
A velha suspirou, calou-se e deixou pender para o peito a cabeça que abanava de um modo estranho.
Olhei-a e pareceu-me que o sono se apoderava dela. Senti que me inspirava uma intensa piedade. Tinha conduzido o final do seu relato sob um tom exaltado, ameaçador, mas onde, no entanto, havia uma nota assustada e servil.
Na margem elevou-se uma canção, um canto estranho. Primeiro foi um contralto que entoou duas ou três notas, depois uma segunda voz retomou a canção desde o início, a primeira continuando a preceder a segunda... uma terceira, uma quarta, uma quinta voz entraram na canção pela mesma ordem. E subitamente a mesma letra foi retomada, sempre desde o princípio, por um coro de homens.
Cada voz de mulher soava perfeitamente distinta, dir-se-iam outros tantos regatos multicores correndo pelos penhascos, saltitando, murmurantes, vindo desaguar na vaga densa das vozes masculinas que se elevavam para elas com um movimento igual, para se nelas afogarem e se libertarem, abafá-las e erguerem-se de novo, uma após outra, puras e fortes, cada vez mais alto.
O ruído das vagas perdia-se para além das vozes...
- Já ouviste dizer que ainda se canta assim, em qualquer parte? - perguntou a velha Izerguil, erguendo a cabeça e sorrindo com a sua boca desdentada.
- Não, nunca!
- Nunca o dirão. Nós gostamos de cantar. Só podem cantar assim belos homens, homens que amem a vida. Nós amamos a vida. Repara, pensas acaso que não se fatigaram durante o dia os que cantam além? Trabalharam do nascer ao pôr do Sol, a Lua ergueu-se e agora eles cantam. Os que não sabem viver teriam ido dormir. Os que amam a vida, vês, cantam.
- Mas a saúde... - comecei eu.
- Há sempre saúde bastante para a vida. A saúde! Se tivesses dinheiro não o gastarias? A saúde vale como o ouro. Sabes o que eu fazia quando era nova? Tecia tapetes do nascer ao pôr do Sol sem praticamente me levantar. Era viva como um raio de sol e era forçada a manter-me sentada, imóvel como uma pedra. Ficava sentada durante tanto tempo que às vezes todos os meus ossos estalavam. E, quando vinha a noite, corria para casa daquele que eu amava para o abraçar. Isso durou três meses, tanto tempo quanto o amor; durante três meses, passei em casa dele todas as minhas noites. E vê até que idade vivi, o sangue foi suficiente. Quantos homens amei! Quantos beijos dei, quantos me foram dados!
Olhei o rosto dela. Os olhos negros mantinham-se embaciados, a recordação não os avivara. O luar iluminava-lhe os lábios secos, gretados, o queixo pontiagudo com pêlos grisalhos e o nariz enrugado, recurvo como um bico de coruja. Em lugar das faces, cavavam-se fossas negras; numa delas repousava uma mecha de cabelos acinzentados que lhe escapara do lenço vermelho que lhe envolvia a cabeça. A pele do rosto, do pescoço e das mãos estava toda sulcada de rugas, e a cada um dos seus movimentos parecia-me que aquela pele seca se ia rasgar, dilacerar, e diante de mim se ergueria um esqueleto nu com olhos apagados e negros.
Com a sua voz quebrada, recomeçou a contar:
- Vivia com a minha mãe perto de Falmi, mesmo nas margens do Byrlat; tinha quinze anos quando ele apareceu no nosso povoado. Era alto, flexível, alegre, com uns bigodes negros. Estava num barco e gritou-nos pelas janelas com uma voz bem sonora: - Eh, vocês têm vinho... e alguma coisa para comer? - Olhei pela janela, através dos ramos dos freixos: vi o rio azulado sob o clarão do luar, e ele, em pé, com uma camisa branca e um cinturão largo de pontas pendentes, um pé no barco o outro na margem. Viu-me e disse: - Caramba! Que beleza mora aqui!... E eu sem saber nada! - Como se já tivesse conhecido todas as belezas da região antes de mim. Dei-lhe vinho e carne de porco cozida... E quatro dias depois dava-me eu própria, toda inteira... Ele vinha, assobiava suavemente como uma marmota, e eu saltava da janela para o rio como um peixe... A caminho!... Era um pescador do Prut, e, mais tarde, quando a minha mãe descobriu tudo e me bateu, ele tentou persuadir-me, com insistência, a partir com ele para Dobruja, e ainda para mais longe, para a foz do Danúbio. Mas já então não me agradava, ele limitava-se a cantar e a beijar-me, nada mais. Tinha-se tornado aborrecido. Nessa época, passavam por ali, em grupo, os bandoleiros, e havia alguns muito agradáveis... Levavam uma rica vida! Uma rapariga esperava longamente o seu rapaz dos Cárpatos, já o imaginava na prisão ou morto algures numa rixa, quando ele de repente aparecia, sozinho ou com dois ou três camaradas, como se tivesse caído do céu. Trazia-lhe presentes valiosos: para eles era tudo barato. Oferecia banquetes em casa dela, mostrava sentir orgulho nela diante dos camaradas, e a rapariga apreciava isso. Pedi a uma companheira que tinha um desses bandoleiros que me deixasse vê-los. Como se chamava ela? Já me esqueci... Agora começo a esquecer tudo. Já passou muito tempo depois disso, tudo esquece. Ela apresentou-me a um deles. Simpático. Ruivo, completamente ruivo, tanto os bigodes como o cabelo ondulado. E era melancólico, às vezes galanteador, outras vezes rugia e batia-se como uma fera. Uma vez bateu-me na cara e eu saltei como um gato, agarrei-o pelo peito e mordi-o na face. Ficou com uma cova no sítio onde o mordi e gostava que o beijasse ali quando nos amávamos.
- E o pescador, onde foi parar? - perguntei eu.
- O pescador? Bem, continuava lá... tinha acamaradado com os bandoleiros. A princípio repreendia-me e ameaçava-me, dizia que me atiraria à água, mas depois passou-lhe; ligou-se com eles e arranjou outra... Foram enforcados os dois juntos, o pescador e o bandoleiro. Fui assistir. Foi na Dobruja. No caminho do suplício, o pescador estava pálido e chorava, mas o outro fumava o seu cachimbo. Caminhava à vontade e fumava, com as mãos nos bolsos, um bigode caído em cima do ombro, o outro pendente para o peito. Reparou em mim, tirou o cachimbo e gritou-me: Adeus!»... Chorei-o durante um ano inteiro... Aquilo aconteceu-lhes quando pretendiam voltar para casa, para os Cárpatos. No dia da partida, tinham sido convidados por um romeno, foi em casa dele que os apanharam. Só prenderam dois, mas mataram vários, os outros conseguiram fugir... De resto, o romeno também teve a sua conta, logo a seguir. Queimaram-lhe a quinta, o moinho e o trigo todo. Caiu na miséria.
- Foste tu quem fez isso? - perguntei eu, ao acaso.
- Eles tinham muitos amigos, eu não era a única... Os que eram os seus melhores amigos encarregavam-se do castigo.
Na praia, a canção tinha cessado e, agora, só o rumor das vagas acompanhava a voz da velha. Esse ruído melancólico e tumultuoso era um magnífico acompanhamento para o relato daquela vida agitada. A irradiação azul do luar dissolvia-se cada vez mais na noite cuja suavidade aumentava; os ruídos indecisos da vida atarefada dos seus habitantes invisíveis tornavam-se mais abafados, sob o domínio cada vez mais forte das vagas, porque o vento estava a levantar-se.
- Depois disso, ainda amei um turco. Estive no harém dele, em Escutári. Vivi lá uma semana e não estava mal... Mas aborrecia-me... Só mulheres, sempre mulheres... Havia oito... Todo o dia a comer, a dormir, a dizer disparates. Ou então zangavam-se umas com as outras, cacarejavam como galinhas. O turco já não era muito novo. Tinha os cabelos quase brancos, era muito digno, rico. Falava como um bispo... Tinha olhos negros, olhos firmes que nos olhavam a direito, na alma. Gostava de rezar. Eu tinha-o visto em Bucareste... Andava pelo mercado, de um lado para o outro, como um rei, e olhava com um ar importante, muito importante. Sorri-lhe. Nessa mesma noite, fui raptada na rua e levada a casa dele. Ele vendia sândalo e óleo de palma e tinha vindo a Bucareste fazer compras. Perguntou-me se queria ir com ele para a Turquia e eu respondi que sim. Só disse Bom!» e eis-me a caminho. O turco era rico e tinha um filho, um rapaz moreno, flexível, com dezasseis anos. Foi com ele que fugi de casa do pai... Fui para a Bulgária, para Lom-Palanka. Lá, houve uma búlgara que me deu uma facada no peito por causa do noivo, ou do marido, já não me lembro bem.
Fiquei muito tempo doente, num convento. Um convento de mulheres. Fui tratada por uma rapariga polaca... o irmão dela, que também era monge, vinha visitá-la, o convento era perto de Artser-Palanka. Ele rastejava diante de mim como um verme... Quando me levantei, parti com ele... para a Polónia.
- Espera aí!... E que aconteceu ao jovem turco?
- O garoto? Tinha morrido. De saudades ou de paixão, não percebi... Tinha mirrado como um arbusto ainda tenro sob o excesso de sol... Secou completamente... Lembro-me dele, deitado, já transparente e azulado como um pedaço de gelo: o amor continuava a arder-lhe no peito. Pedia-me que me inclinasse para ele e o beijasse... Eu amava-o e lembro-me que o beijava ardentemente. Depois ficou pior, praticamente não se mexia. Mantinha-se inerte e pedia-me que me deitasse a seu lado, para o aquecer, com a voz gemida de um mendigo que pede esmola. Eu deitava-me e logo que o fazia ele inflamava-se todo. Um dia acordei, mas ele já estava frio... morto. Chorei-o. Quem sabe? Fui talvez eu quem o matou. Eu tinha nesse momento o dobro da idade dele. E era tão forte, tão ardente... Ele o que era? Um rapazinho!
Suspirou e - era a primeira vez que lhe via fazer aquele gesto - benzeu-se três vezes, murmurando algo com os lábios ressequidos.
- E então... tinhas partido para a Polónia... - lembrei-lhe.
- Sim... com aquele polaco. Era ridículo e sórdido. Quando precisava de mulher, apertava-se contra mim como um gato e a boca soltava-se num mel ardente, mas, quando não me queria, as palavras dele eram como chicotadas. Um dia seguíamos ao longo do rio e disse-me uma palavra que me feriu. Não pude mais, zanguei-me, comecei a ferver como piche. Agarrei-o - ele era muito pequeno - , ergui-o no ar, apertei-lhe as costelas com os braços até que ficou violáceo. Tomei balanço e atirei-o ao rio. Lá ficou a gritar; gritava duma maneira tão ridícula! Olhei-o cá de cima a debater-se na água e fui-me embora. Nunca mais o encontrei. Tive sorte: nunca encontrei segunda vez os homens que amei. São maus encontros, é exactamente como se encontrássemos os mortos.
A velha calou-se, recobrando fôlego. Imaginei os homens que ela ressuscitava. Ali estava o bandoleiro de longos bigodes e cabelo flamejante que seguia para a morte fumando calmamente o seu cachimbo. Tinha decerto olhos azuis e frios que pousavam em todas as coisas o mesmo olhar concentrado e firme. Ao lado dele, o pescador do Prut, de bigodes negros, que chorava e não queria morrer; no rosto violáceo, a angústia que precede a morte velava-lhe os olhos alegres e os bigodes molhados de lágrimas pendiam tristemente nos cantos duma boca torcida. O velho turco de olhar imponente, sem dúvida fatalista e despótico, e, a seu lado, o filho, frágil flor pálida do Levante, envenenada com beijos. E ali estava o polaco vaidoso, galante e cruel, tagarela falso e frio. Não passavam de pálidas sombras e aquela que o beijara estava sentada a meu lado, viva mas mirrada pelo tempo, um corpo vazio de sangue, com um coração sem desejos, com olhos sem chamas, também ela quase uma sombra.
Recomeçou a contar:
- Na Polónia tive dificuldades. Lá vivem homens frios e mentirosos. Eu não lhes conhecia a língua de serpentes. Silvam permanentemente. Que silvam eles? Foi Deus que lhes deu aquela língua de serpentes porque são mentirosos. Eu ia sem saber para onde e via-os, então, reunirem-se para se revoltarem contra vocês, contra os Russos. Cheguei até Bokhnia, e nessa cidade vendi-me a um judeu. Não me tinha comprado para ele, mas para negociar comigo. Eu estava de acordo. Para viver é preciso saber fazer qualquer coisa. Eu não sabia fazer nada e teria de pagar com o meu corpo. Mas pensava que, se arranjasse um pouco de dinheiro, poderia voltar para a minha terra, no Byrlat, e quebraria os grilhões por mais fortes que fossem. Fiquei lá. Recebia a visita de ricos senhores que se banqueteavam em minha casa. Aquilo custava-lhes muito caro. Batiam-se por minha causa, arruinavam-se. Havia um que tentava possuir-me havia muito e um dia fez o seguinte: veio ter comigo e um criado seguia-o com um saco. O ricaço abriu o saco e voltou-o em cima da minha cabeça. As moedas de ouro caíam-me nos cabelos e eu sentia-me alegre a ouvi-las tilintar ao caírem no chão. Mas mesmo assim corri com ele. Tinha um aspecto grosseiro, malfeito, e uma barriga que parecia um almofadão. Era um porco pronto para a matança. Sim, pu-lo fora, apesar de ele me ter dito que tinha vendido todas as suas terras, casas e cavalos para me cobrir de ouro. Eu estava nessa altura apaixonada por um fidalgo muito digno, de rosto retalhado. Havia sido acutilado pelos sabres dos Turcos contra quem tinha combatido pouco antes, ao lado dos Gregos. Aquilo era um homem! Que lhe importavam os Gregos, visto que era polaco? Vou-te dizer: gostava das proezas. E quando um homem gosta das proezas, sabe sempre como as realizar e encontrará sempre lugar para isso. Na vida há sempre lugar para dar largas à intrepidez. E aqueles que não sabem realizá-las, são simplesmente pantomineiros e cobardes, ou então não compreendem a vida, pois se os homens compreendessem a vida todos quereriam deixar nela a sua sombra. E então a vida não devoraria os homens sem deixar rasto... Aquele era um valente! Estava pronto a ir ao fim do mundo para enfrentar fosse o que fosse. Certamente os vossos mataram-no no momento da revolta. E porque foram vocês bater nos Húngaros? Bem, deixemos isso...
Mandando-me calar, a velha Izerguil silenciou subitamente e mergulhou nos seus pensamentos.
- Também conheci um húngaro. Um dia saiu da minha casa, no Inverno, e só na Primavera, quando começou o degelo, o encontraram num campo com a cabeça atravessada por uma bala. Foi assim. Como vês, a peste não perde mais homens que o amor; se se fizessem as contas, verias que é verdade. Onde é que eu ia? Ah, na Polónia! Joguei lá a minha última partida. Encontrei um nobre... Esse é que era belo! Como o Diabo! Eu já estava velha; teria os meus quarenta anos?... Talvez. Era orgulhoso e mimado pelas mulheres. Custou-me caro... sim. Queria-me tomar à primeira, mas não cedi. Nunca tinha sido escrava de ninguém. Já me tinha libertado do judeu, tinha-lhe dado muito dinheiro. Agora habitava em Cracóvia e tinha tudo, ouro, cavalos, criados... Ele vinha ver-me, endemoninhado de orgulho, e queria que eu me atirasse para os braços dele. Zangámo-nos... fiquei mais feia, recordo-me muito bem. As coisas arrastaram-se durante muito tempo, mas por fim atingi o que queria: ele suplicou-me de joelhos. Mas logo que fui dele, abandonou-me. Foi então que compreendi que estava velha. Aquilo não era nada agradável, absolutamente nada. Eu amava aquele demónio... e ele, quando me encontrava, ria. Era vil. Zombava de mim com os outros... eu sabia-o. Tenho de confessar que era bastante amargo, mas ele estava ali, perto, e, pelo menos, eu podia ter o prazer de o ver. Quando partiu para se bater contra vocês, senti-me tão mal! Lutava contra mim mesma, mas não me conseguia dominar. Decidi partir, segui-lo. Ele estava perto de Varsóvia, na floresta.
Quando cheguei, soube que tinham sido derrotados, e que estava numa aldeia perto, prisioneiro.
Quer dizer - pensei eu - nunca mais o verei. Mas queria vê-lo e esforcei-me para o conseguir... Disfarcei-me de mendiga, manca, e pus-me a caminho, com o rosto vendado, para a aldeia onde ele estava. Por toda a parte só havia soldados e cossacos... Custou-me caro chegar lá. Soube onde estavam os polacos e vi que era muito difícil chegar até eles. No entanto, era necessário. À noite, deslizei até ao lugar; rastejei num jardim, entre os arbustos, e que vejo: a sentinela, em pé, no meu caminho... Já os ouvia, os polacos a cantar e a falar alto. Entoavam um cântico à Mãe de Deus. E ele cantava no meio deles... o meu Arkadek. Lembrei-me amargamente que dantes rastejavam para mim e agora chegara a minha vez de rastejar como uma cobra à procura dum homem, e talvez também a caminho da morte. Ali estava a sentinela que apurava o ouvido e se inclinava para a frente. Afinal, que arriscava eu? Levantei-me e caminhei para ela. Não tinha faca, tinha apenas as mãos e a língua. Lamentei não ter trazido uma faca. Disse-lhe que esperasse, mas já ele tinha apoiado a baioneta na minha garganta; só tive tempo de murmurar: - Não espetes, espera, ouve-me se tens uma alma. Não te posso dar nada, mas suplico-te... - Ele baixou a espingarda e disse-me em voz baixa: - Vai-te embora, mulher; vai-te embora! Que queres daqui? - Eu disse-lhe que o meu filho estava ali preso. - Tenta compreender, soldado, tu também és filho de alguém, não é verdade? Deixa-me vê-lo, talvez ele morra em breve... e talvez tu morras amanhã e a tua mãe chorará por ti? E será duro morreres sem ter revisto a tua mãe. Também para o meu filho será um mau bocado. Tem pena de ti e dele, e de mim que sou a mãe...
Falei-lhe durante muito tempo. A chuva caía e molhava-nos. O vento uivava, rugia, açoitava-me ora o peito ora as costas. Eu estava ali e oscilava diante daquele soldado de pedra que me respondia sempre: Não.» De cada vez que eu lhe ouvia aquela fria palavra mais me inflamava o desejo de rever o meu querido Arkadek. Falava e media o soldado com o olhar. Era pequeno, seco e tossia permanentemente. Deixei-me cair de joelhos, abracei-lhe as pernas, continuando a pedir ardentemente, e atirei-o ao chão. Caiu na lama, voltei-lhe rapidamente o rosto para a terra e mergulhei-lhe a cabeça numa poça para o impedir de gritar. Não gritava, debatia-se apenas, tentando fazer-me sair de cima dele. Eu segurava-lhe a cabeça com as duas mãos mergulhando-o na lama cada vez mais profundamente, até que ele abafou... Então precipitei-me para o barracão onde os polacos cantavam e chamei: - Arkadek! - Murmurava o nome dele nas fendas das paredes. Quando me ouviram, deixaram de cantar: os polacos adivinham essas coisas. Via-lhes os olhos em frente dos meus. - Podes sair daí? - Posso, pelo soalho - disse ele. - Então, anda lá. E assim saíram dali quatro: três e o meu Arkadek que me perguntou onde estava a sentinela. - Está ali, no chão! - Saímos devagar, curvados, sob a chuva, enquanto o vento uivava. Apanhámo-nos fora da aldeia e caminhámos durante muito tempo, em silêncio, pela floresta. Íamos depressa; Arkadek levava-me pela mão, a mão dele estava quente e trémula. Oh, sentia-me tão bem com ele que nem falava. Foram os últimos minutos, os melhores minutos da minha vida ardente. Entretanto, tínhamos desembocado num prado e parámos. Todos me agradeceram. Oh, nunca mais acabavam de me contar não sei o quê. Ouvia-os e olhava o meu fidalgo. Que ia ele fazer de mim? E então tomou-me nos braços e disse-me com um ar grave... Já não me lembro o que disse, mas tudo se resumia no seguinte: daqui em diante, reconhecido por lhe ter conseguido a evasão, amar-me-ia. Ajoelhou diante de mim, sorridente, e chamou-me Minha rainha!» Estás a ver o mentiroso que ele era. Dei-lhe um pontapé e tê-lo-ia esbofeteado se ele não tivesse dado um salto para trás. Ficou diante de mim, ameaçador e pálido. Os outros três mantinham-se ali, pouco acolhedores, calados. Olhei-os... E de repente senti invadir-me uma enorme lassidão, uma preguiça incomparável; disse-lhes: Vão-se embora!» E eles, os patifes, perguntaram-me: Voltas lá, para lhes mostrar o nosso caminho?» Estás a ver a baixeza deles? Mas foram embora, mesmo assim, e eu parti também. No dia seguinte, fui apanhada pelos vossos, mas libertada a seguir. Comecei a pensar que era tempo de arranjar um ninho, que já tinha vivido tempo de mais como um cuco. Começava a engordar, as asas tinham perdido força e as penas perdido o brilho... Era tempo, não havia dúvida. Parti para a Galícia, e de lá para a Dobruja. Faz agora perto de trinta anos que moro aqui. Tive um marido, um moldavo, morreu há um ano. Vivo sozinha; sozinha não, com eles.»
Fez um gesto em direcção ao mar. Para lá, tudo estava calmo. Por vezes, nascia um ruído rápido e enganador que morria logo a seguir.
- Gostam de mim. Conto-lhes uma porção de histórias. São todos ainda muito novos... Sinto-me bem com eles. Fazem-me lembrar como eu era dantes. Mas no meu tempo havia no homem muito mais força e paixão, a vida também era mais alegre e melhor. Não há dúvida.
Calou-se. Eu estava triste ao lado dela. Ela sonhava, abanava a cabeça e murmurava baixinho... talvez rezasse.
Do mar subia uma nuvem, negra, pesada, de contornos severos, semelhante a uma crista de montanha. Avançava rastejando pela estepe. Do cume destacavam-se farrapos que a precediam e apagavam as estrelas uma após outra. O mar bramia. Perto de nós, nos vinhedos, ouvia-se o ruído de beijos e suspiros. Na profundidade da estepe, uivava um cão... O ar irritava os nervos e as narinas, carregado de um perfume estranho. As nuvens atiravam para a terra sombras densas que rastejavam, rastejavam, desapareciam, reapareciam. No lugar da Lua apenas se mantinha uma mancha baça, cor de opala; de vez em quando, um pedaço de nuvem azulada escondia-se completamente. E no horizonte da estepe, agora negra e assustadora como se se dissimulasse ou escondesse um segredo, acendiam-se minúsculas luzes azuis. Ora aqui, ora ali, apareciam durante uma fracção de segundo e extinguiam-se, como se alguns homens esparsos pela imensidão da estepe procurassem qualquer coisa, acendessem fósforos imediatamente apagados pelo vento. Eram estranhas línguas de fogo, azuis, que faziam pensar em qualquer coisa de fabuloso.
- Estás a ver as fagulhas? - perguntou a velha Izerguil.
- As azuladas? - disse eu, apontando para a estepe.
- Azuladas? Sim, é isso... Quer dizer que continuam a voar. Eu já não as vejo. Já não posso ver muita coisa.
- De onde vêm elas? - perguntei.
Eu já conhecia relatos sobre a origem daqueles fogos-fátuos, mas queria ouvir o conto que a velha Izerguil faria sobre aquilo.
- Aquelas fagulhas vêm do coração ardente de Danko. Houve uma vez um coração que um dia pegou fogo. É dele que saltam fagulhas. Vou-te contar essa história. É uma velha lenda. Mais uma velha coisa; quantos tesouros havia nos tempos antigos, estás a ver?... E agora, nada, nem acções, nem homens, nem contos, como nesse tempo. Porquê? Responde, se és capaz. Não há resposta. Sabes lá? Que sabem vocês todos, rapazes novos? Eh, eh! Se olharem bem para o passado, verão que se encontra lá resposta para todos os enigmas... Mas vocês não olham e é por isso que não sabem viver. Achas que não vejo a vida? Vejo tudo, embora os meus olhos sejam maus! E vejo que os homens não vivem, passam o seu tempo a prepararem-se para agir, sem realmente agirem nunca; e gastam nisso toda a sua vida. Quando se roubaram a si próprios, esbanjando o tempo, põem-se a choramingar sobre o destino. Mas o que é o destino? Cada um é o seu próprio destino! Vejo toda a espécie de pessoas, mas não vejo pessoas fortes. Onde estão? E os belos homens são cada vez mais raros.
A velha pôs-se a reflectir sobre aquele tema, para onde iam os homens fortes e belos e, cismando, examinava a estepe sombria como que para obter uma resposta.
Eu esperava a história que ela contaria e calava-me com receio de que uma pergunta minha lhe desviasse novamente a atenção.
E então ela começou.
- Dantes viviam na terra homens cujos acampamentos eram cercados, por três lados, por florestas impenetráveis, abrindo o quarto lado para a estepe. Eram homens alegres, fortes e audaciosos. Mas um dia chegaram momentos difíceis: apareceram tribos, vindas não se sabe de onde, que expulsaram os anteriores para o fundo das florestas. Ali reinavam os pântanos e as trevas, a floresta era tão velha e os ramos tão entrelaçados que não deixavam ver o céu; os raios do Sol quase não conseguiam atravessar a folhagem espessa. Mas quando caíam na água dos pântanos, estes exalavam um tal fedor que os homens morriam uns atrás dos outros. As mulheres e as crianças começaram a chorar e os pais começaram a cismar e deixaram-se invadir pela tristeza. Era preciso sair da floresta e não havia, para tal, senão dois caminhos: voltar para trás, e lá encontravam-se inimigos fortes e de maus instintos, ou seguir em frente, o caminho onde se erguiam árvores gigantescas cujos ramos poderosos se entrelaçavam e cujas raízes penetravam profundamente na vasa pegajosa dos pântanos. As árvores de pedra erguiam-se, de dia, silenciosas e imóveis na penumbra cinzenta, e, à noite, cercavam os homens ainda mais de perto quando se acendiam as fogueiras do acampamento. E constantemente, quer de noite quer de dia, havia em redor dos homens um anel de trevas sólidas que parecia estar prestes a esmagá-los. Estavam habituados à imensidão das estepes. E ainda era mais terrível quando o vento chicoteava as frondes e toda a floresta uivava surdamente como se os ameaçasse e lhes entoasse um canto fúnebre. Eram homens fortes e poder-se-iam bater até à morte com os que anteriormente os tinham vencido, mas não deviam morrer nos combates porque tinham tradições e, se desaparecessem todos, elas desapareceriam com eles. Por isso se mantinham e cismavam, nas longas noites, sob o ruído abafado da floresta, no meio do fedor envenenado do pântano. Mantinham-se ali e as sombras das fogueiras dançavam à volta deles uma ronda muda; tinha-se a impressão de que não eram as florestas que dançavam mas sim os espíritos malignos da floresta e do pântano que triunfavam. Os homens continuavam a pensar, mas nada esgota tanto o corpo e a alma dos homens como os pensamentos na ansiedade; nada, nem o trabalho nem as mulheres. À força de pensar, os homens enfraqueceram. O terror apoderou-se deles, minou-lhes os braços sólidos, as mulheres deram largas ao medo chorando sobre os corpos dos que tinham morrido das emanações fétidas e sobre a sorte dos vivos agrilhoados pelo terror; começaram a ouvir-se na floresta palavras de cobardia, de início tímidas e abafadas, depois num tom cada vez mais alto. Já se sentiam prontos a ir ter com o inimigo levando-lhe em oferenda a sua liberdade, assustados pela morte já ninguém temia a vida de escravo... Foi então que apareceu Danko e, sozinho, os salvou a todos.
Era fácil de perceber que a velha contava frequentemente a história do coração ardente de Danko. A fala era cantante e a voz, rangente e abafada, evocava o ruído da floresta onde, com o ar fétido e envenenado do pântano, morriam homens infelizes e assustados. - Danko era um deles, um belo jovem. Os homens belos são sempre audaciosos. Ele disse aos camaradas:
- Com o pensamento não se afastam as pedras do caminho. Quem nada arrisca, nada obtém. Para que serve gastarmos as nossas forças a gemer e a cismar? Entraremos na floresta de pé e atravessá-la-emos, porque ela tem um fim, tudo no mundo tem um fim. Caminhemos! Para a frente!
Olharam-no e viram que era o melhor de todos, nos olhos dele brilhava a força e a chama inextinguível.
- Conduz-nos, então! - disseram eles.
Foi desse modo que tomou o comando.»
A velha calou-se durante um momento e olhou para a estepe onde as trevas se tornavam cada vez mais espessas. As pequenas fagulhas do coração de Danko cintilavam ao longe e pareciam aéreas flores azuis abertas por um instante.
Danko traçou o caminho. Seguiram-no de comum acordo; acreditavam nele. O percurso era muito difícil. Estava escuro, a cada passo o pântano abria a goela ávida e pútrida que engolia os homens, e as árvores barravam-lhes o caminho com a sua poderosa muralha. Os ramos do arvoredo entrelaçavam-se como serpentes, as raízes tinham avassalado tudo e cada passo custava imenso suor e sangue. Caminharam durante muito tempo. A floresta era cada vez mais espessa, a energia deles cada vez mais escassa. Então começaram a resmungar contra Danko que tinha cometido o erro, tão jovem e inexperiente como era, de os conduzir sabia-se lá por onde. Ele, porém, caminhava na frente, sereno e audaz.
Ora um dia a tempestade abateu-se sobre a floresta. O arvoredo soltou um murmúrio abafado e assustador. A escuridão foi tal que se supôs que as noites se tinham reunido subitamente, as noites todas desde que a floresta nascera. Os homens, minúsculos, caminhavam entre as grandes árvores no meio do ribombar ameaçador dos trovões; caminhavam e os troncos gigantescos balouçavam-se, rangiam e uivavam canções irritadas, e os relâmpagos que passavam rapidamente por cima deles iluminavam por um momento a floresta com uma gélida chama azul, desaparecendo tão depressa como tinham surgido, deixando-os apavorados. As árvores, iluminadas pela chama fria dos relâmpagos, pareciam vivas, pareciam estender em torno dos homens que se evadiam das trevas os seus longos braços retorcidos, entrançando assim uma rede cerrada para tentar deter os viajantes. Através das sombras das ramagens apercebiam algo de assustador, de sombrio e gélido. O caminho difícil levava os homens a perder a coragem. Mas tinham vergonha de confessar a sua impotência e então, no seu furor e na sua cólera, atiraram-se a Danko, voltaram-se contra o homem que marchava na frente deles. Acusaram-no de não os saber dirigir. Isso, muito simplesmente.
Pararam e, sob o rumor triunfante da floresta, entre as trevas trémulas, fatigados e cheios de ódio, puseram-se a julgar Danko.
- És um falhado e um homem nocivo! - disseram-lhe. - Arrastaste-nos atrás de ti, esgotaste as nossas forças e por isso terás de morrer.
- Vocês disseram-me que os conduzisse, e eu fi-lo! - gritou Danko, enfrentando-os. - Possuo a coragem de conduzir e essa é a razão por que aceitei a missão. E vocês? Que fizeram antes para se ajudarem a si mesmos? Limitaram-se a caminhar e não souberam guardar forças para um caminho mais longo. Limitaram-se a seguir ao acaso como um rebanho de carneiros.
Mas estas palavras exasperaram-nos ainda mais.
- Morrerás! Morrerás! - rugiam eles.
A floresta estrondeava, acompanhando-lhes os gritos, e os relâmpagos rasgavam as trevas em farrapos. Danko olhava para aqueles por quem tinha sofrido e via que eram como feras. Eram numerosos à sua volta, mas não havia nos rostos deles nenhuma nobreza e não podia esperar compaixão. Sentiu ferver dentro de si a indignação, mas a sua própria piedade apaziguou-o. Amava os homens e pensava que, sem ele, talvez perecessem. O coração inflamou-se-lhe com o desejo de os salvar, de os conduzir a um caminho fácil, e nos olhos cintilaram-lhe os raios dessa poderosa chama. Pensaram que ele estava furioso, que era a raiva que lhe dava ao olhar um tal brilho, e ficavam à espreita, como lobos, esperando vê-lo lutar; cercaram-no mais de perto para que fosse mais fácil apanhá-lo e matá-lo. Mas ele já lhes tinha apreendido o pensamento e o coração ardeu como uma chama ainda mais clara porque um tal pensamento enchia-o de tristeza.
A floresta continuava a cantar a sua lúgubre canção; trovejava e chovia em bátegas.
- Que posso fazer pelos homens? - gritou Danko, com uma voz mais alta que a da tempestade.
Subitamente, arrancou o coração do peito, com as mãos, erguendo-o muito alto, acima da cabeça.
O coração ardia com uma chama mais clara que a do Sol, e toda a floresta se calou, iluminada por aquela tocha de amor; as trevas dispersaram-se diante da luz e foram cair no fundo da floresta, na goela pútrida do pântano. Os homens, espantados, ficaram como se fossem de pedra.
- Para a frente! - gritou Danko, dando o exemplo, começando a caminhar com o coração ardente, bem alto, a iluminar a vereda dos homens.
Lançaram-se atrás dele, fascinados. Então a floresta recomeçou a sussurrar, balouçando as ramarias altas, admirada, mas com a voz abafada pelo pisar firme dos homens em marcha. Corriam, rápidos e audazes, atraídos pelo espectáculo maravilhoso do coração ardente. Alguns ainda morriam, mas faziam-no sem lamentos, sem lágrimas. Danko seguia sempre na vanguarda, e o coração continuava a arder, a arder!
E de súbito a floresta afastou-se diante dele; afastou-se e deixou-se ficar para trás, opaca e muda; Danko e os seus homens mergulhavam repentinamente num mar de sol e de ar puro lavado pela chuva. A tempestade ficava para trás, por cima da floresta, mas aqui o Sol resplandecia, a estepe respirava, a erva brilhava sob as pérolas da chuva, o rio reflectia como ouro... Era ao crepúsculo e, sob os raios do poente, o rio parecia vermelho como o sangue que tinha jorrado como um regato ardente do peito dilacerado de Danko.
Este, orgulhoso e altivo, olhou para diante de si, para a imensidade da estepe, lançou um olhar alegre para a terra livre e soltou uma gargalhada satisfeita. Depois tombou... morto.
Mas os homens, alegres e cheios de esperança, não notaram a morte dele e não viram que ao lado do cadáver o coração ainda ardia. Só um deles, mais prudente, se apercebeu disso e, temendo uma infelicidade, pousou o pé naquele coração altivo que soltou um feixe de fagulhas, extinguindo-se.
É daí que vêm as fagulhas azuis que aparecem na estepe e antecedem a tempestade.»
Agora que a velha tinha acabado o seu belo conto, um silêncio de assombro dominava a estepe. Dir-se-ia que esta se admirava da força do corajoso Danko, que tinha incendiado o coração a favor dos homens e morrido sem pedir recompensa. A velha cochilava. Olhei-a e pensei: quantos contos e recordações não retém a memória dela? E pensei no grande coração ardente de Danko e na imaginação dos homens que criaram tantas lendas belas e fortes.
Uma rajada de vento levantou os andrajos mostrando o peito seco da velha Izerguil que adormecia cada vez mais profundamente. Cobri-lhe o velho corpo e deitei-me no chão, ao lado dela. A estepe estava calma e escura. No céu as nuvens deslizavam, lentas e monótonas... O mar trovejava tristemente, com um som abafado.
Máximo Gorki
SILÊNCIO
Numa noite de Maio em que havia luar e os rouxinóis cantavam, a mulher do Padre Inácio entrou no escritório; trazia no rosto sinais de sofrimento e o pequeno candeeiro tremia-lhe nas mãos; veio junto do marido, tocou-lhe no ombro e disse, entre soluços:
- Vamos ter com a Verinha.
Sem voltar a cara, o Padre Inácio olhou a mulher por cima dos óculos, de sobrolho franzido: olhou-a por muito tempo, com muita atenção, até que ela, fazendo um gesto de súplica com a mão que tinha livre, se deixou cair num sofá baixo.
- Nem tu nem ela tendes piedade - disse devagar e marcando bastante a última palavra; a face boa, cheia, tinha uma expressão de dor e desespero que parecia dar a entender como eram cruéis o marido e a filha.
O Padre Inácio sorriu e levantou-se: fechou o livro, tirou os óculos, pô-los na caixa e ficou de pé, a reflectir; a barba comprida e negra, raiada aqui e além de fios brancos, descia numa curva graciosa sobre o peito e levemente se erguia e baixava, ao ritmo da sua funda respiração.
- Bem, vamos lá!
Olga Stepanovna levantou-se rapidamente e, com uma voz carinhosa e tímida, suplicou-lhe:
- Não era melhor... Bem sabes como ela é...
O quarto de Vera era no sótão e a estreita escada de madeira vergava e gemia sob os passos pesados do Padre Inácio. Era alto e forte e tinha de curvar a cabeça para não bater no soalho de cima; carregava o sobrolho, com enfado, quando o casaco branco da mulher lhe batia de leve no rosto. Bem sabia que a conversa com Vera não daria resultado nenhum.
- Que é? - perguntou Vera, levantando até os olhos um dos braços nus. O outro ficou sobre a colcha branca e mal se distinguia, tão branco era, tão transparente e tão frio.
- Verinha - começou a mãe; depois teve um soluço e parou.
- Vera - disse o pai, tentando abrandar a voz áspera e alta - diz-nos, Vera, que tens tu?
Vera ficou silenciosa.
- Vera, não temos eu e tua mãe merecido a tua confiança? Não é verdade que gostamos tanto de ti? Há alguém que esteja mais perto de ti do que nós? Diz-nos o que te faz sofrer; acredita em mim, que sou já velho e experimentado; verás como te alivias, a ti e a nós. Olha como tua mãe sofre...
- Verinha!...
- E por mim - e a voz áspera tremeu como se alguma coisa lhe tivesse faltado - e por mim... Julgas que é fácil? Não vejo eu que algum desgosto te consome? Que desgosto é esse? Eu não o sei, eu que sou teu pai. Não devia ser assim...
Vera ficou silenciosa.
O Padre Inácio passou a mão pela barba, devagar, como se receasse que involuntariamente os dedos a arrancassem, e continuou:
- Foi contra a minha vontade que partiste para S.Petersburgo... Mas acaso te amaldiçoei? Não te dei dinheiro? És capaz de dizer que te não tratei com afecto. Pois é! Ficas calada. Aí tens o que deu S.Petersburgo.
O Padre Inácio parou de falar; parecia que via diante dele uma grande massa granítica, aterradora, cheia de perigos desconhecidos, de gente estranha e indiferente. Era ali que tinha estado a sua Vera, sempre tão isolada, sempre tão delicada, e ali se tinha arruinado. Um ódio feroz pela cidade terrível e incompreensiva levantou-se no peito do Padre Inácio; e também uma irritação contra a filha que continuava silenciosa, obstinadamente silenciosa.
- Petersburgo não teve nada com isto - disse Vera sombriamente e fechou os olhos. - Não tenho nada. Era melhor irem para a cama; já é tarde.
- Verinha - suspirou a mãe - , minha filha, abre-te comigo...
- O mãe - interrompeu Vera com impaciência.
O Padre Inácio sentou-se numa cadeira e pôs-se a rir.
- Com que então não é nada?! - observou irónico.
- Pai - disse Vera duramente e sentando-se na cama - , bem sabes que gosto de ti e da mãe, mas... Bem, estou um pouco triste. Já passa. Realmente, era melhor irem para a cama; apetece-me dormir. Falamos amanhã ou um dia destes.
O Padre Inácio levantou-se tão de súbito que a cadeira bateu na parede, e, pegando na mão da mulher, disse-lhe:
- Vamos embora!
- Verinha!
- Vamos embora, já te disse! - gritou o Padre Inácio. - Se ela se esqueceu de Deus, que temos nós a esperar? Que somos nós para ela?
Quase à força, fez sair do quarto Olga Stepanovna; na escada, a mulher foi mais devagar e disse num murmúrio raivoso:
- Foste tu, um padre, quem a pôs naquele estado; foi de ti que ela aprendeu aqueles modos; hás-de ter que dar contas de tudo. Oh, que infeliz eu sou!
Começou a chorar e tinha os olhos tão enevoados que nem via o caminho; descia como se houvesse ao fundo um abismo a que quisesse atirar-se.
Desde esse dia, deixou o Padre Inácio de falar à filha, mas ela nem pareceu dar por tal; ficou como dantes, deitada no seu quarto, ou então passeava, limpando de quando em quando os olhos com a palma da mão, como se os tivesse empoeirados. A mulher do padre, que gostava de graças e de se rir, andava como que zangada entre estas duas pessoas, sempre silenciosas; tornou-se tímida e como que perdida, sem saber que diria ou faria.
Algumas vezes, Vera saía a passear. Uma semana depois da conversa, saiu como de costume. Nunca mais a viram viva, porque naquela mesma noite atirou-se para debaixo de um comboio e o comboio trucidou-a.
O Padre Inácio leu o ofício dos mortos; a mulher não estava na igreja, porque tivera uma congestão ao saber da morte da filha. Não movia os braços nem as pernas e não falava; estava deitada, sem o menor movimento, num quarto meio escuro, a escutar os sinos que dobravam no campanário ao lado; ouviu as pessoas saírem da igreja, ouviu os coristas cantarem diante da casa e quis levantar a mão para se benzer, mas o braço não lhe obedeceu; quis dizer: Adeus, Vera!» mas a língua, na boca, ficou pesada e mole. Estava, no entanto, com tão grande ar de repouso que todos a podiam julgar ou em descanso ou adormecida; os olhos, porém, tinha-os abertos.
Muita gente veio à igreja para assistir ao funeral - amigos do Padre Inácio e desconhecidos - , e todos tinham muita pena de Vera, que tinha morrido de morte tão terrível; e todos procuravam surpreender sinais de desgosto nos movimentos ou na voz do Padre Inácio. Não gostavam dele porque tinha maneiras ásperas e orgulhosas; odiava os pecadores e não lhes perdoava, mas ao mesmo tempo era invejoso e insaciável e não perdia oportunidade de tirar dos fregueses mais do que era devido. Todos o queriam ver a sofrer, abatido, confessando que era duplamente culpado da morte da filha: como pai severo e como mau padre, que não fora capaz de salvar do pecado uma filha única. Todos lhe dirigiam olhares inquiridores, e o padre, sentindo cravados nele os olhos de todos, esforçava-se por endireitar as costas largas e fortes, e não pensava na filha morta, mas somente na maneira de manter a sua dignidade.
- Um padre bem endurecido - disse o marceneiro Kargenov, acenando com a cabeça para o Padre Inácio, que lhe não tinha pago um caixilho que encomendara.
Sempre firme e direito, foi o Padre Inácio até o cemitério e voltou para casa; foi só à porta do quarto da mulher que se curvou um pouco, mas talvez apenas porque as portas eram baixas de mais para a sua estatura. Como vinha de fora, foi com dificuldade que pôde distinguir a cara da mulher: quando finalmente a pôde examinar, ficou surpreendido por a ver tão calma, sem lágrimas nos olhos, sem raiva nem tristeza naqueles olhos: mudos, silenciosos, com um pesado, obstinado silêncio, como todo o corpo, o corpo sem poder, enterrado na cama de penas.
- Então, como vai isso? - perguntou o Padre Inácio. Mas os lábios ficaram mudos, os olhos ficaram silenciosos. O Padre Inácio pôs-lhe a mão na testa; estava fria e húmida e Olga Stepanovna não mostrou de modo algum que tinha sentido o toque. Quando o Padre Inácio retirou a mão, dois olhos cinzentos, profundos, olharam-no sem pestanejar; as pupilas dilatadas tornavam-nos quase negros e não se podia ver neles nem tristeza nem raiva.
- Bem, vou para o quarto - disse o Padre Inácio, que sentia frio e medo.
Passou à sala, onde tudo estava limpo e em ordem como de costume; os grandes cadeirões metidos nas coberturas pareciam corpos envolvidos em mortalhas. Numa janela, estava pendurada uma gaiola de arame: mas estava vazia e tinha a porta aberta.
- Anastácia! - gritou o Padre Inácio, e pareceu-lhe que a sua voz era áspera; parecia estranho gritar tão alto, naquelas salas sossegadas, logo depois do funeral da filha. - Anastácia! - gritou ele, já menos alto - onde está o canário?
A cozinheira tinha chorado tanto que o nariz, inchado e vermelho, parecia uma beterraba; e respondeu rudemente:
- Onde está? Fugiu, naturalmente.
- Porque é que o deixaste fugir? - ralhou o Padre Inácio, com severidade.
Anastácia começara a chorar alto e limpava os olhos com o lenço que tinha pela cabeça, enquanto dizia por entre lágrimas:
- Coitadinho! Era a alma da menina... como é que a gente havia de ficar com ele?
Pareceu ao Padre Inácio que o alegre canário amarelo, que sempre cantava com a cabeça um pouco deitada de lado, era realmente a alma de Vera e que se não tivesse voado não se podia dizer que Vera tinha de facto morrido. Ficou mais furioso com a cozinheira e gritou-lhe:
- Vai-te embora! - E, quando viu que Anastácia não dava com a porta, disse ainda: - Idiota!
Desde o dia do funeral, desceu o silêncio sobre a pequena casa. Não era só o sossego, porque o sossego é apenas uma ausência de som; era o silêncio. Era um silêncio semelhante ao das pessoas que poderiam falar e não querem falar. Eis o que pensava o Padre Inácio quando entrava no quarto da mulher e encontrava o obstinado olhar, um olhar tão pesado que parecia transformar o ar em chumbo e vir-lhe todo sobre a cabeça e as costas; e pensava-o também quando folheava as músicas da filha onde parecia ter ficado impressa a sua voz, ou olhava para os livros ou para o retrato. Era um retrato grande, pintado a óleo, e tinha-o ela trazido de S.Petersburgo; quando o examinava, seguia o Padre Inácio sempre uma certa ordem: primeiro, contemplava-lhe a face, que tinha no retrato uma cor viva, e imaginava-a com uma ferida que vira no rosto da morta e de que não percebia a causa; de todas as vezes, tentava encontrar uma causa e não o conseguia; se tivesse sido o comboio, toda a cabeça teria ficado esmagada; e a cabeça da sua Vera estava ilesa. Talvez tivesse sido arranhada pelo pé de alguém quando tinham levantado o corpo, ou pela unha, talvez.
Era horroroso pensar muito nos pormenores da morte de Vera e por isso o Padre Inácio passava aos olhos do retrato. Eram pretos e lindos, com longas pestanas que faziam uma sombra funda, tornavam os brancos mais claros, davam aos olhos a aparência de estarem rodeados de uma tarja de luto. O pintor, desconhecido, mas talentoso, tinha-lhes dado uma expressão estranha: era como se houvesse entre os olhos e o objecto contemplado uma película fina e transparente. Era como o dorso negro de um piano sobre que caiu uma delgada, quase imperceptível camada de poeira de Verão, que suavizou o brilho da madeira envernizada. Fosse qual fosse o sítio em que o Padre Inácio colocava o retrato, sempre os olhos o seguiam, mas sem falar: estavam silenciosos, e este silêncio era tão evidente que era como se ele o pudesse ouvir. A pouco e pouco, foi o Padre Inácio pensando que ouvia o silêncio.
Todas as manhãs, depois do serviço, ia o padre para a sala de visitas e, depois de lançar um olhar para a gaiola vazia e para todas as coisas que já conhecia tão bem, sentava-se numa cadeira de braços, fechava os olhos e escutava o silêncio da casa. Estranha coisa, este silêncio! A gaiola estava quieta, ternamente silenciosa, e podiam ouvir-se, neste silêncio, mágoas, choros e um riso distante, um riso já morto. O silêncio da mulher, atenuado pelas paredes, era obstinado, pesado como chumbo, terrível, tão terrível que, mesmo no dia mais quente, o Padre Inácio sentia frio. O silêncio da filha era um silêncio retraído, frio como um túmulo, enigmático como a morte. Parecia que este silêncio se fazia sofrer a si próprio, que apaixonadamente desejava falar e que alguma coisa de forte e de brutal, como uma máquina, o conservava imóvel, retesado como um arame. Ao longe, muito longe, num ponto indefinido, o arame começava a vibrar, a soar brandamente, tímido e patético, e o Padre Inácio, cheio de medo e deleite, esforçava-se por não perder os sons que despertavam; pousando as mãos nos braços da cadeira, inclinava a cabeça para a frente e esperava que o som se aproximasse; mas, de repente, tudo parava e se desvanecia.
- Que tolice! - dizia o Padre Inácio, com um tom de zanga; e levantava-se da cadeira, ainda alto e direito. Pela janela, podia ver o largo calçado a gogos redondos e lisos e banhado de sol e, em frente, a parede, sem janelas, dum celeiro. À esquina, um cocheiro estava de pé, como um boneco de barro, e o padre não percebia por que motivo ele estava ali, visto que, durante horas a fio, não passava ninguém.
O Padre Inácio, quando não estava em casa, tinha de falar muito, com o clero e com os fregueses, quando oficiava na igreja, e algumas vezes com os amigos, se jogava com eles; mas, quando regressava a casa, tinha sempre a ideia de que estivera em silêncio todo o dia; a razão estava em que não havia ninguém com quem o Padre Inácio pudesse falar acerca do principal e, para ele, da mais importante questão que lhe ocupava todas as noites o pensamento: porque morrera Vera?
Não queria o Padre Inácio acreditar que era agora impossível descobri-lo e pensava que a empresa ainda tinha probabilidades de êxito. Todas as noites - e todas elas tinham passado a ser noites de insónia - rememorava o momento em que ele e a mulher tinham estado junto da cama de Vera, no silêncio da noite, e ele lhe tinha dito: Diz-nos...». Quando a sua memória chegava a estas palavras, era como se o resto não tivesse existido; os olhos fechados, que na escuridão retinham a viva imagem daquela noite, viam como Vera estava sentada na sua cama, sorria e dizia - mas que dizia ela? A palavra que Vera não pronunciava e que tudo explicaria parecia estar tão perto que bastaria apurar mais os ouvidos, fazer parar as pancadas do coração, para que logo se pudesse ouvir; mas, ao mesmo tempo, estava tão longe, a uma distância tão ilimitada e tão sem esperança... O Padre Inácio levantava-se e estendia as mãos enclavinhadas e trémulas, com um ar suplicante:
- Vera!
Mas a resposta que recebia era sempre o silêncio.
Uma noite, veio o Padre Inácio ao quarto de Olga Stepanovna, Onde já não entrava havia uma semana, sentou-se junto do travesseiro e, desviando o seu olhar do olhar obstinado e rígido, disse:
- Mulher! Quero falar contigo a respeito da Vera! Tu ouves-me?
Os olhos ficaram silenciosos e o Padre Inácio, elevando a voz, começou a falar severamente, autoritariamente, como falava com os que vinham à confissão.
- Bem sei que tu julgas que fui eu a causa da morte de Vera. Mas vê bem: não é verdade que eu gostava dela tanto como tu? A tua maneira de raciocinar é bastante estranha. Fui severo, mas acaso a impedi de fazer o que quis? Esqueci a minha dignidade de pai. Humildemente baixei a cabeça quando ela não teve receio da minha maldição e foi para lá. E tu, não choraste tanto, não lhe pediste tanto que ficasse connosco, até que ela te mandou estar calada? Tenho eu alguma culpa de ela ter saído de alma tão dura? Não lhe falei sempre de Deus, de humildade, do amor?
O Padre Inácio olhou vivamente para os olhos da mulher e desviou os seus.
- Que havia eu de fazer se ela não queria dizer o que tinha? Ordenar? Pois ordenei. Suplicar? Pois supliquei. Que querias tu que eu fizesse? Havia de me pôr de joelhos diante de uma criança e de chorar como uma velha? No espírito dela - sei lá o que havia no espírito dela! Cruel, desalmada!...
O Padre Inácio bateu com o punho no joelho.
- Não tinha amor - eis o que é! É inútil falar de mim, claro está, sou um tirano, mas gostava de ti, de ti que choravas e te humilhavas?
O Padre Inácio riu com um riso sem som.
- Gostava de ti! Pois é: e para te consolar escolheu essa morte - morte cruel, morte vergonhosa! Morreu no chão, na porcaria, como um cão que apanha pontapés no focinho.
A voz do Padre Inácio era fraca e áspera.
- Tenho vergonha - vergonha de ir à rua, vergonha de subir ao altar. Tenho vergonha diante de Deus! Foi uma filha sem coração, uma filha indigna! Devias ser maldita no teu coração...
Quando o Padre Inácio tornou a olhar para a mulher viu que ela tinha perdido os sentidos; só os recobrou horas depois. Mas os olhos ficaram silenciosos e era impossível saber se se lembrava ou não do que lhe tinha dito o Padre Inácio.
Naquela mesma noite - era uma noite de Julho, cheia de luar, e sossegada, quente, silenciosa - o Padre Inácio subiu as escadas em bicos de pés, de modo que não o ouvissem a mulher e a enfermeira, e entrou no quarto de Vera. A janela do sótão não se tinha aberto desde a morte de Vera e o ar estava quente e seco, com um leve cheiro a queimado proveniente de o zinco do telhado ter sido aquecido durante o dia pelo sol. O quarto, de que já há tanto tempo estavam ausentes seres humanos, tinha um ar de infelicidade, de deserto, e as paredes de madeira, a mobília, tudo o resto do que continha exalava um leve odor de gradual decadência. O luar entrava pela janela, fazia no chão uma faixa brilhante e reflectido pelo soalho bem esfregado lançava até os cantos uma claridade de crepúsculo e fazia da cama, branca e limpa, com as suas duas almofadas, uma grande e outra pequena, uma aparição fantástica e aérea. O Padre Inácio abriu a janela e uma corrente de ar fresco entrou no quarto e trouxe um cheiro de poeira, do rio distante, dos limoeiros em flor. Trouxe também os vagos sons de um coro longínquo: provavelmente andavam a remar no rio e a cantar. Movendo sem barulho os pés descalços e com a aparência de um fantasma branco, o Padre Inácio dirigiu-se à cama vazia, pôs-se de joelhos e, enterrando a cabeça nas almofadas, beijou-as no lugar em que teria estado a cabeça de Vera. Assim esteve muito tempo; a canção soou mais alto, depois morreu ao longe, e ele ficou ali, com os seus compridos cabelos negros espalhados pelos ombros e por cima das almofadas.
A Lua avançou, e já estava o quarto mais escuro, quando o Padre Inácio levantou a cabeça e começou a murmurar, fazendo passar na voz toda a força de amor que sempre reprimira, que nunca deixara confessar-se; e escutava as suas próprias palavras como se fosse Vera e não ele que as ouvisse.
- Minha filha! Vera! Percebes bem o que quer dizer esta palavra - filha? Filhinha querida! ó minha alma, ó meu sangue, ó minha vida! O teu pai já velho, muito velho, todo branco, e tão fraco...
Tremeram os ombros do Padre Inácio e oscilou todo o seu corpo pesado. Tentando reprimir o tremor, o Padre Inácio murmurava ternamente, como se falasse a uma criança:
- O pobre do teu pai vem pedir-te, não, Vera, vem implorar-te... Está a chorar, ele que nunca chorou! Ah! minha filhinha, os teus sofrimentos, as tuas mágoas, também eu os tenho agora, vê tu, e como os tenho bem fundo!
O Padre Inácio sacudiu a cabeça.
- Fundo, Verinha! Que é a morte para mim, que já sou velho? Mas para ti - se tu soubesses como és delicada e fraca e tímida! Lembras-te quando picaste o dedo e veio sangue - como choraste? Filhinha, tu gostas de mim, gostas muito de mim, bem o sei; todas as manhãs me beijas a mão. Diz-me, vá, diz-me o que te aflige e eu, com estas mãos, aniquilo a tua dor! Olha que estas mãos são ainda fortes, Vera!
E o Padre Inácio sacudiu a cabeleira.
- Diz!
O Padre Inácio olhou fito para a parede e abriu os braços.
- Diz!
Tudo estava em sossego no quarto; de longe vinha o longo, o repetido apito de uma máquina.
O Padre Inácio olhou em volta com os olhos abertos e fixos, como se visse diante dele o espectro terrível do corpo desfigurado; levantou-se devagar e com incerto movimento levou as mãos à cabeça, com os dedos abertos e rígidos. Caminhou para a frente e murmurou em voz entrecortada:
- Diz!
E a resposta que recebeu foi o silêncio.
No dia seguinte, depois de um almoço que comeu cedo e sozinho, o Padre Inácio foi ao cemitério, pela primeira vez depois da morte da filha. Havia calor e o cemitério estava sem gente e sossegado. Parecia ao padre que o dia cheio de sol era apenas uma noite luminosa; no entanto, por hábito, endireitava cuidadosamente as costas, olhava para todos os lados com severidade e julgava que era ainda o mesmo que sempre tinha sido. Não dava pela fraqueza nova e terrível que tinha nas pernas nem por que a barba se tinha tornado completamente branca, como se tivesse passado sobre ela uma forte geada. O caminho para o cemitério era por uma rua comprida e direita que subia gradualmente e terminava no arco branco dos portões que semelhava uma boca negra e sempre aberta bordejada por dentes rebrilhantes.
A cova de Vera era mesmo no extremo do cemitério, para lá do ponto em que os caminhos areados terminavam, e o Padre Inácio foi durante muito tempo por estreitas veredas tortuosas, entre montículos verdes, esquecidos e abandonados por todos. Em alguns lugares passava por monumentos fendidos, que o tempo tornara verdes, por grades quebradas e por grandes, pesadas pedras meio enterradas no chão e que pareciam oprimi-lo com o sombrio despeito da velhice. A campa de Vera ficava junto de uma destas pedras velhas. Estava coberta de relva posta há pouco, mas que já amarelecera, ao passo que à volta tudo estava verde. Perto, crescia uma sorveira ligada a um bordo e uma nogueira, de larga copa, estendia sobre a campa os seus ramos de folhagem áspera e felpuda. O Padre Inácio sentou-se numa campa vizinha, para tomar fôlego e olhar em torno. Relanceou a vastidão do céu, limpa de nuvens, com um Sol esbraseado, redondo e imóvel; só agora dava pelo profundo sossego, a que nada mais se compara, de um cemitério, quando não há vento e não sussurram as folhas caídas. Outra vez pensou o Padre Inácio que se não tratava de sossego, mas de silêncio; um silêncio que ia até aos muros de pedra do cemitério, os transpunha com dificuldade, depois inundava a cidade, e só acabava nos olhos cinzentos, obstinados, silenciosos.
Um arrepio passou pelos ombros frios do Padre Inácio que olhou para a cova de Vera; esteve a olhar por muito tempo para as folhas curtas e amarelas de erva que tinha sido cortada nalgum campo extenso sobre o qual soprava o vento e não tivera tempo de se enraizar no novo solo; e o padre nem podia perceber como é que Vera estava ali enterrada, a metro e meio abaixo da erva. Parecia inconcebível uma tal proximidade e havia na sua alma um confuso, um estranho sobressalto. Estava ali, perto dele, aquela que já se acostumara a considerar desaparecida para sempre nas escuras profundidades do infinito; e era difícil compreender que já não estava ali e nunca mais ali estaria. Parecia ao Padre Inácio que se dissesse certa palavra que quase sentia nos lábios, se fizesse um certo movimento, Vera sairia da campa e seria de novo a rapariga alta e delgada que tinha sido outrora; levantar-se-ia ela, e também os outros corpos, tão terrivelmente palpáveis no seu frio, solene silêncio.
O Padre Inácio tirou o seu chapéu preto, de aba larga, passou a mão pelo cabelo e disse num murmúrio:
- Vera!
Como seria estranho que alguém o ouvisse! Subido na cova, olhou por cima das cruzes, mas tudo estava deserto; e repetiu mais alto:
- Vera!
Era a antiga voz do Padre Inácio, seca e autoritária, e era de admirar que um pedido feito com tanta força ficasse sem resposta.
- Vera!
Alta e persistente, a voz chamava e quando o som se desvanecia, parecia, por um momento, que uma resposta indistinta vinha de baixo. O Padre Inácio olhou em volta outra vez, depois, afastando o cabelo, colou o ouvido à erva áspera e aguda.
- Vera, diz!
Horrorizado, o Padre Inácio sentiu que alguma coisa fria e tumular lhe penetrava no ouvido e lhe gelava o cérebro, e que Vera falava... mas só falou com o mesmo longo, imperturbado silêncio. Tudo se tornou ainda mais estranho e terrível e quando por fim o Padre Inácio teve força para tirar a cabeça de cima da terra tinha a face pálida como a de um cadáver. Parecia-lhe que todo o ar tremia e ondeava num silêncio que se ouvia, como se uma tempestade tivesse rebentado neste medonho mar. O silêncio sufocava-o; rolava-lhe em vagas geladas sobre a cabeça, movia-lhe o cabelo, e vinha quebrar-se-lhe contra o peito, que gemia aos embates. Com o corpo trémulo, lançando olhares rápidos e agudos, o Padre Inácio levantou-se devagar e fez demorados, dolorosos esforços para endireitar as costas e obrigar o corpo que tremia a retomar o andamento orgulhoso e digno. E conseguiu-o. Com deliberada lentidão, o Padre Inácio sacudiu a erva dos joelhos, pôs o chapéu, benzeu por três vezes a campa e afastou-se com um passo firme, pesado. Mas não reconheceu o cemitério já tão familiar, e perdeu-se.
- Bem, perdi-me - disse o Padre Inácio com um sorriso, parando no lugar em que se cruzavam vários caminhos.
Não se moveu durante um segundo, e, sem pensar, voltou à esquerda porque não ousava parar e esperar. O silêncio impelia-o. Levantava-se das campas verdes, exalava-se das velhas cruzes cinzentas em vagas finas, sufocantes, saía de todos os poros da terra que os cadáveres enchiam. O passo do Padre Inácio tornou-se mais rápido; sentia-se surdo, e andava às voltas, sempre pelos mesmos caminhos. Saltou por cima das covas, chocou com as grades, prendeu as mãos nas agudas grinaldas de metal; já o fato começava a esfarrapar-se. Lançava-se de um lado para o outro e, por fim, alto e estranho, com o casaco esvoaçando, o cabelo ao vento, começou a correr sem ruído. Quem tivesse encontrado este homem a correr, a saltar, a gesticular, quem lhe tivesse visto a face desvairada e contorcida, quem tivesse ouvido o grito sombrio e rouco que lhe saia da boca aberta, teria ficado mais assustado do que se visse erguer-se-lhe diante um cadáver saldo dum túmulo.
Correndo a toda a velocidade, chegou o Padre Inácio ao largo a cujo fundo brilhava, toda branca, a igreja baixa do cemitério. À porta, sentado num banco, um velho cabeçoava; de longe, parecia um peregrino, e perto dele duas pedintes, furiosamente, descompunham-se e gritavam.
Já escurecia quando o Padre Inácio chegou a casa; havia luz no quarto de Olga Stepanovna e, exactamente como estava, roto, coberto de poeira, sem tirar o chapéu, entrou correndo no quarto da mulher e caiu de joelhos:
- Mulher! Olga! Tem piedade de mim! - soluçou ele. - Eu endoideço!
Bateu com a cabeça no bordo da mesa e soluçou com uma dolorosa ferocidade, como homem que nunca tinha chorado. E levantou a cabeça, seguro dum milagre, seguro de que a mulher lhe iria falar, seguro de que teria pena dele.
- Querida...!
Aproximou da mulher o seu grande corpo e fitou-lhe os olhos cinzentos. Não havia neles nem piedade nem cólera. Talvez a mulher lhe perdoasse e o lamentasse, mas nos seus olhos não havia nem pena nem perdão. Estavam soturnos e silenciosos.
E era toda silêncio a casa escura e desolada.
Leonid Andreyev
OS ESPECTROS
Confirmada a demência de Egor Timofeievich Pomerantzev, subchefe da Repartição de Administração local, os amigos promoveram uma subscrição em seu benefício, a qual rendeu o bastante para que ele fosse internado num manicómio particular. Pomerantzev não tinha direito à reforma, mas esta foi-lhe concedida em atenção aos seus vinte e cinco anos de exercício irrepreensível no cargo que desempenhava e às necessidades contraídas com a sua doença. Assim ficou a dispor de meios com que pagar a sua clínica até se finar, já que o mal era, no parecer dos médicos, um caso sem esperança de cura.
Logo que o seu transtorno mental o afastou do serviço, a esposa de quem se separara, havia quinze anos, julgou-se com direito à pensão do Estado e para fazer valer tal direito, levou a questão para o tribunal; mas perdeu a causa e o dinheiro reverteu para o enfermo.
O hospital onde Pomerantzev fora internado era uma acolhedora casa de campo à entrada de um pequeno bosque lindante com a estrada que conduzia à cidade. Distava desta umas quantas centenas de metros. O telhado era muito alto e sugeria um machado de gume voltado para o solo. Nos dias de festa e bem assim todos os domingos, o Director mandava içar a bandeira nacional para regozijo dos doentes. O facto provocava nos valetudinários uma sensação estranha e feliz a que chamaríamos garridice na demência.
Nas suaves manhãs de Primavera e do Outono, a brisa embaladora trazia até ali os sons vagos dos sinos e o ruído dos carros que demandavam a cidade ou regressavam dela. Mas fora isso, à volta do hospício tudo era quietude, paz e sossego; o silêncio caía mais profundo do que na aldeia próxima onde o letargo era ferido pelo latir dos cães e pelo chilrear das crianças. Ali não havia cães, nem crianças. A casa estava cercada por um muro alto. Em derredor estendia-se uma campina onde não ia ninguém. Pouco mais ou menos a uma versta de distância, entre as árvores, elevava-se a esguia chaminé de uma fábrica, a qual nunca se via deitar fumo.
Sumida no meio do bosque, a fábrica parecia abandonada.
Quem passasse pela estrada e não fosse daqueles sítios nunca poderia advertir o que havia por trás daquele muro alto e daquelas pontas fechadas. Só os camponeses que andavam por tal caminho em suas carripanas trepidantes, os cocheiros imponentes vindos da cidade e os ciclistas sempre apressados em cima das suas máquinas se tinham habituado a ver o muro alto e já não lhe davam nenhuma atenção. Se todos os que se encontravam adentro dos seus limites fugissem ou morressem de repente, tal coisa só muito depois viria a ser notada; os camponeses guiando as suas carripanas, e os ciclistas impelindo as suas máquinas, uns e outros entregues ao seu afã, silenciosos, absortos no seu labor, continuariam a passar em frente do muro sem nada suspeitar do que teria ocorrido na parte que ele ocultava.
O Dr. Chevirev não admitia loucos furiosos na sua clínica; por isso o silêncio reinava nela como em qualquer casa respeitável, habitada por pessoas bem educadas. O único ruído que se ouvia a qualquer hora, desde que, dez anos atrás, se inaugurou a clínica, era tão regular, suave e metódico que se tornava despercebido, como se torna despercebido o bater do coração ou o tiquetaque de um relógio de pulso. Fazia-o um doente ao bater na porta fechada do seu aposento. Estivesse onde estivesse, sempre havia de encontrar uma porta qualquer para se pôr a bater, mesmo que fosse suficiente empurrá-la para que ela se abrisse. Se a porta se abria, logo procurava outra e recomeçava o bater; não podia tolerar as portas fechadas. Batia de dia e de noite, ainda que mal o sustivessem as pernas, cheio de cansaço. É provável que a insistência da sua ideia fixa o tivesse levado a adquirir o hábito de também bater enquanto dormia; pelo menos, o ruído regular, monótono, que fazia, prolongava-se, noite fora. E, por outro lado, nunca era visto na cama, o que levava a supor-se que dormia de pé, junto à porta.
Em conclusão, na clínica havia grande tranquilidade. Às vezes, o que se dava sempre durante a noite, quando o bosque invisível, sacudido pelo vento, soltava lastimosos gemidos, um ou outro doente, tornado duma angústia mortal, começava a gritar. Acudiam-lhe, geralmente, com rapidez para que ele acalmasse; mas havia ocasiões em que o terror e a angústia eram tão fortes que tornavam ineficazes todos os sedativos e o enfermo continuava a gritar. Então a angústia contagiava todos os habitantes da clínica, e os doentes semelhantes a bonecos mecânicos a que se tivesse dado corda, punham-se a percorrer, cheios de nervosismo, os seus aposentos, ao mesmo tempo que esbracejavam e proferiam coisas estúpidas, ininteligíveis. Todos, incluindo os doentes menos agitados batiam violentamente nas portas e pediam que os libertassem.
Assustada, cabeça esvaída e juízo extraviado, a enfermeira corria ao telefone para chamar o Dr. Chevirev, que se encontrava no café Babilónia, onde costumava entreter as noites. O doutor possuía o dom de, só com a sua presença tranquilizar os doentes. Contudo, bastante tempo após a sua chegada, os enfermos ainda balbuciavam, por trás das portas dos seus quartos, coisas fantásticas, e a clínica lembrava um galinheiro em que tivesse entrado uma raposa.
Mas era raro que tudo isto acontecesse e ninguém, de fora, o notava, porque a estrada, à noite, conservava-se completamente deserta. Além disso, ouvidos através das paredes, os gritos pareciam emitidos por criaturas que se divertiam, para o que contribuíam bastante certos doentes cuja crise lhes dava para cantar.
O quarto de Pomerantzev ficava no andar de cima e a sua janela dava para o bosque. No Verão, quando o invadia o perfume dos pinheiros e das acácias e se via sobre a mesa uma jarra com flores, dir-se-ia que, efectivamente, estava ali uma casa de campo. Das paredes pendiam três quadros levados por Pomerantzev, a que se juntava o retrato de um seu filho que, havia muito tempo, morrera de difteria; e estas coisas concediam ao aposento um aspecto bastante agradável. Pomerantzev sentia-se satisfeitíssimo com as suas dependências e passava longos momentos na contemplação dos quadros, um dos quais representava uma rapariga a guardar patos, outro um anjo abençoando a cidade e o terceiro um rapaz italiano. Convidava toda a gente a visitar o seu quarto e comprazia-se extraordinariamente em fazer que o Dr. Chevirev fosse vê-lo o maior número de vezes possível. Se alguém - qualquer doente ou médico - se negava a fazer-lhe uma visita, recorria a pequenas astúcias: afirmava que no seu quarto havia um rouxinol que cantava de maneira admirável. Assim procurava atrair as pessoas ao seu aposento. Os outros enfermos sentiam-se tão encantados como ele com o seu quarto e era dele que primeiro falavam quando lhes dava para elogiar a clínica. A partir de certo momento, Pomerantzev notou que se encontrava numa casa de loucos, mas tal coisa não conseguiu impressioná-lo: estava certo de que, se quisesse, podia converter-se em espírito puro e, neste estado, voar por todo o mundo. Nos primeiros tempos do seu internamento na clínica, todos os dias voava até à cidade, até à Repartição; mas, depois, começaram a preocupá-lo assuntos de maior importância e, por falta de tempo, a Repartição deixou de merecer os seus cuidados.
Era de alta estatura, delgado; tinha o cabelo espesso, muito negro e emaranhado. Era míope e usava óculos muito grossos. Ao rir-se, mostrava os dentes e as gengivas, o que criava a impressão de que o riso transbordava de todo o seu ser. Ria-se muitas vezes. Tinha voz de baixo profundo. Não demorou muito em travar amizade com todos os outros doentes e ocupar entre eles uma posição de relevo. Constituiu-se em protector dos seus companheiros de clínica. Imaginava-se uma personagem muito importante, de alta categoria; mas não tinha uma concepção precisa acerca de tal categoria, e as suas ideias a tal respeito mudavam com frequência: tão depressa julgava ser o conde Almaviva como o governador da cidade ou um taumaturgo e um benfeitor. A sensação de um poder imenso, de uma força omnipotente e de uma alta nobreza jamais o abandonava. E por isso mostrava uma benevolência de potentado nas maneiras de tratar com os outros, tornando-se, por vezes, arrogante e severo. Era assim quando lhe chamavam Egor» em vez de Georgi», como queria que lhe chamassem. Então indignava-se a ponto de lhe brotarem as lágrimas, declarava que estavam a tecer intrigas contra ele e escrevia extensas queixas ao Santo Sínodo e ao Capítulo da Ordem de Cavaleiros de São Jorge. O Dr. Chevirev, a quem chegou uma destas queixas, enviou-lhe imediatamente uma resposta oficial nos termos, em que lhe eram dadas satisfações completas. Pomerantzev acalmou-se, mas o médico, que parecia muito assustado com a queixa do seu doente, ficou um tanto irritado.
- Não se aflija - dizia Pomerantzev para tranquilizar o médico. - Já está tudo arrumado.
Não eram muitos os doentes da clínica: onze homens e três mulheres. Não usavam uniforme nem o indumento usual dos recolhidos em hospícios deste género; vestiam como em suas casas, e era preciso observar-se atentamente para se dar conta de qualquer pequeno desarranjo no aspecto exterior de cada um, desarranjo contra o qual Chevirev nada podia fazer. Andavam, geralmente com o cabelo bem penteado. As duas únicas excepções eram a de uma senhora que se obstinava em andar com ele solto, o que produzia uma impressão cómica e a de um doente, chamado Petrov, que usava o cabelo e a barba muito compridos, por ter medo às tesouras, e que não consentia que o tosquiassem, com receio de ser degolado.
No Inverno, os doentes preparavam, eles próprios, um campo de patinagem e dedicavam-se com prazer a tal desporto. Na Primavera e no Verão trabalhavam na horta, cultivavam flores e pareciam criaturas cheias de saúde, assisadas, normais. Pomerantzev era sempre o mais entusiasta nestas ocupações. Só três dos doentes não tomavam parte nos trabalhos e nos jogos: Petrov, o da barba comprida, o doente que passava o dia e a noite a bater às portas e uma donzela quarentona de nome Anfisa Andreievna. Estivera empregada, durante muitos anos, como governante em casa de uma condessa, ainda sua parente, onde dormia numa cama muito curta, quase de criança, e na qual não podia deitar-se sem ter de encolher as pernas. Depois de enlouquecer, passou a julgar que as tinha encolhidas para toda a vida e que se encontrava, por isso, impossibilitada de andar. Vivia continuadamente atormentada pelo receio de, após a sua morte, ser colocada num caixão muito curto, onde não pudesse estender as pernas. Era muito modesta, meiga, bonita, pálida como as pinturas de monjas e de santas. Enquanto falava, os seus dedos brancos, finos e compridos, punham em ordem as pregas rotas do seu peitilho. Mandavam-lhe muito pouco dinheiro para as suas despesas, e andava com vestidos extravagantes, passados, havia muito, de moda.
Tinha confiança absoluta em Pomerantzev, a quem pedia, muitas vezes, que lhe cuidasse do caixão quando ela morresse.
- É certo que o doutor já me prometeu ter esse cuidado; mas confio pouco nele; o seu papel é enganar-nos, ao passo que você é dos nossos. Além disso, não é muito o que lhe peço: um caixão comprido só custará uns três rublos mais do que um caixão acanhado. Já arranjei o dinheiro. Mas é preciso que alguém se interesse pelo caso. Você promete-me, não é verdade?
- Sim, minha senhora! Pode contar comigo. Hei-de abrir uma subscrição entre os doentes para se construir no cemitério um mausoléu para si.
- Sim, sim. Um mausoléu, gosto. Fico-lhe muito grata.
E as faces pálidas coloriam-se-lhe ao de leve, como branca nuvem matinal atravessada por um raio de sol.
Deixara de crer em Deus, havia muito tempo, e um dia, em que calhou levarem a casa da condessa alguns ícones, cometeu em relação a um deles nefando sacrilégio. Foi por isso que caiu na conta de pessoa sem juízo.
Durante os passeios, que eram obrigatórios para todos os doentes, Petrov mantinha-se sempre a distância, com receio de um ataque súbito; no Verão, para se defender, trazia sempre uma pedra no bolso; no Inverno, utilizava para tal fim um pedaço de gelo. O doente que batia às portas também se conservava a distância. Depois de passar rapidamente por todas as portas abertas, parava à frente da do jardim e punha-se a bater nela, sem pressa, insistentemente, monotonamente, com intervalos regulares. No princípio do seu internamento na clínica apresentava os dedos inchados e cobertos de cicatrizes: mas o tempo, pouco a pouco, tornou-os insensíveis, a pele endureceu e, quando ele batia a qualquer porta, as suas falanges pareciam de pedra.
Pomerantzev julgava-se na obrigação de, sempre que o encontrava, conversar com ele.
- Bons-dias, senhor! Continua a chamar?
- Sim! - respondia o outro, ao mesmo tempo, que olhava Pomerantzev com os seus grandes olhos tristes e muito profundos.
- Não abrem?
- Não - respondia o doente.
A sua voz era fraca, suave, semelhante a um eco, e tão extraordinariamente profunda como os seus olhos.
- Dê-me licença, vou abrir! - dizia Pomerantzev.
E começava a empurrar a porta, a forçar a fechadura; mas a porta não cedia. Então acrescentava.
- Descanse um pouco; eu baterei, entretanto.
Durante alguns minutos, Pomerantzev, conscienciosa e energicamente, batia com a mão fechada na porta. O outro descansava, esfregando as mãos e olhando com assombro, e ao mesmo tempo com indiferença, o céu, o jardim, a clínica, os doentes. Era alto, belo e ainda forte. O vento acariciava-lhe a barba grisalha.
Certa vez, Petrov aproximou-se lentamente e perguntou-lhe com a sua voz pausada:
- Está alguém atrás da porta? Quem é?...
- É preciso que a abram!
- Que tolice! E se entra quando você a abrir?
- É preciso que a abram.
- Como é que você se chama?
- Não sei.
Petrov riu-se a medo e, apertando o pedaço de gelo que transportava no bolso, regressou nas pontas dos pés ao seu poiso, atrás de uma árvore, onde se sentia em relativa segurança no caso de ataque imprevisto.
Os doentes, geralmente falavam muito e tinham prazer em falar; mas, mal trocavam as primeiras palavras, logo deixavam de se ouvir e cada um falava apenas para si. Era por isto que as suas conversas despertavam neles, sempre grande interesse.
O Dr. Chevirev sentava-se, todos os dias, ora ao lado de um ora ao lado de outro, e escutava atentamente o que diziam os doentes. Dir-se-ia que também ele falava muito; mas, na realidade, nunca dizia nada; limitava-se a ouvir. E todas as noites das dez às seis da manhã, permanecia no Café Babilónia, pelo que era incompreensível como tinha tempo para dormir, para se vestir com tanto esmero, para se barbear quotidianamente e, ainda, para se perfumar um pouco.
Pomerantzev andava sempre satisfeito com tudo e com todos. Além de ser um louco, sofria do estômago, de gota e de muitas outras doenças; o médico, uma vez por outra, prescrevia-lhe dieta; outras vezes, obrigava-o a passar um dia inteiro sem comer; mas Pomerantzev ficava-se na mesma. Nunca perdia o bom humor, até quando não lhe davam de comer, e mostrava-se orgulhoso dos seus padecimentos, a ponto de agradecer a gota ao Dr. Chevirev, convencido de que se tratava de uma doença nobre, que concorria para aumentar a sua importância.
No dia em que o médico observou nele, pela primeira vez, esta doença, ficou satisfeitíssimo e passou todo o dia a dar ordens, com muita solenidade, aos outros enfermos que se distraíam a erguer uma montanha de neve; imaginava-se um general a vigiar a construção de poderosa fortaleza. Nada existia a que ele não votasse olhares optimistas, e mesmo nos próprios males encontrava sempre qualquer coisa boa. Um dia, no Inverno, a chaminé da clínica incendiou-se de repente; temia-se o alastramento do incêndio, e todos os doentes estavam assustados. Pomerantzev era o único a regozijar-se perante o acontecimento; estava certo de que o fogo destruíra os diabos maus que, escondidos na chaminé, uivavam durante a noite. Efectivamente, os uivos acabaram e Pomerantzev redigiu um extenso relatório do que se passara, que enviou ao Santo Sínodo, o qual, por intermédio do doutor, respondeu a felicitá-lo. De quando em quando, voava até à cidade, até à sua Repartição; mas fazia-o cada vez mais espaçadamente; todas as noites recebia a visita de S. Nicolau, com quem se dirigia, a voar, a todos os hospitais da cidade, e se dedicava à tarefa de curar doentes. Pela manhã, erguia-se, esgotado, cansado, com as pernas inchadas e uma dor horrível em todo o corpo, tossindo terrivelmente durante horas e horas.
- Então! Como está hoje? - perguntava-lhe o médico, enquanto se sentava na cama, a seu lado.
Pomerantzev esforçava-se por vencer a tosse e respondia:
- Estou óptimo. Nunca me senti tão bem!
E, depois de conseguir dominar definitivamente o acesso de tosse, com um sorriso jovial e os olhos brilhantes, acrescentava:
- Apenas estou um pouco cansado. O que, aliás, não é para admirar. Esta noite visitei três hospitais! E não foi pouco o que neles tive que fazer! Imagine o senhor que só no hospital Detegzev havia cinco crianças atacadas de febre tifóide. Uma estava quase a morrer. Por felicidade, S. Nicolau, soprando-lhe na cara, curou-a imediatamente. A criança pôs-se logo muito alegre e pediu de beber. Eu e S. Nicolau chorámos de alegria. Palavra de honra!
Os olhos de Pomerantzev encheram-se de lágrimas; apressou-se, porém, a enxugá-las, e acrescentou, galhofeiro:
- Ora aqui tem um doutor S. Nicolau! O senhor não se parece com ele...
Logo a seguir, temendo que o médico se ofendesse, procurou tranquilizá-lo:
- Não, não, querido doutor! Não vá tomar a sério o que disse agora. Bem sei que estou junto de um homem diligente e consciencioso, cumpridor do seu dever. O senhor parece-se com S. Erasmo. Também é um bom santo.
- Já o viu?
- Creio que sim. Eu já vi todos os santos.
E começou a descrever pormenorizadamente os rostos dos santos, que, em princípio, eram todos bons e nobres.
Depois, levantou-se, deu algumas voltas no aposento, realizou alguns movimentos ginásticos e, finalmente, parou em frente da janela aberta.
- A neve já começa a derreter-se! - disse. - E isto é-me bastante agradável!... Que vamos fazer hoje, doutor?
- Quer, porventura, ir quebrar o gelo do tanque?
- Quebrar o gelo? Oh, meu Deus, que interessante! Quebrar o gelo é ajudar a primavera. Na verdade, doutor, o senhor é um homem excelente!
- E o senhor é um homem feliz.
Separaram-se, muito amigos.
Um quarto de hora mais tarde, Pomerantzev, todo salpicado de gelo e de neve, trabalhava energicamente com a pá enterrando-a no gelo já meio derretido, que parecia açúcar cristalizado. O trabalho aquecia Pomerantzev, que, fatigado, transpirava intensamente; mas sentia-se feliz e olhava enlevado à sua volta. O dia primaveril parecia sorrir. Lentamente, dos telhados, das árvores, do muro, caíam gotas de água que ofuscavam tudo em derredor. Aspirava-se o aroma da neve derretida, das ervas apodrecidas, as mil fragrâncias da Primavera.
- Olhe como eu trabalho! - gritava Pomerantzev à enfermeira, uma rapariga baixinha, agasalhada na capa de peles.
Estava sentada num banco, a bater com os pés no chão para os aquecer, e vigiava os doentes. Com o frio, tinha o narizito vermelho.
- Muito bem, Georgi Timofeievich! - respondeu com voz fraca, sorrindo-lhe afectuosamente. - Gosto muito de o ver trabalhar.
Pomerantzev bem sabia que a enfermeira estava apaixonada por ele, e, visto que não podia corresponder a tal amor, respeitava os sentimentos da rapariga e procurava não a comprometer com qualquer imprudência. Imaginava-a uma heroína que tivesse abandonado a sua opulenta e aristocrática família para cuidar de doentes, embora, na realidade, ela fosse uma pobre órfã sem ninguém no mundo. Estava certo de que a cortejavam oficiais da guarda imperial e de que ela os repelia para se consagrar inteiramente ao seu dever penoso. Conservava-se, perante ela, em atitude muito respeitosa, saudava-a com a maior delicadeza, conduzia-a à mesa pelo braço e, no Verão, mandava o guarda levar-lhe ramos de flores; mas fazia tudo para não ficar a sós com ela, para não a colocar em situação menos airosa.
Por causa desta enfermeira, Pomerantzev tinha questões frequentes. Petrov afirmava que ela era, como, afinal, são todas as mulheres, perversa, mentirosa, incapaz dum amor sincero.
- Depois de falar com uma pessoa - dizia, - põe-se a escarnecê-la. Ainda há pouco - continuava a dizer confidencialmente a Pomerantzev, ao mesmo tempo que passava as mãos pelas suas grandes barbas, - há pouco galanteava consigo e comigo, mas estou plenamente convencido de que já está a rir-se de nós e, escondida atrás da porta está a chamar-nos imbecis! É assim mesmo, acredite! Era capaz de jurar que está a fazer-nos caretas. Oh! conheço muito bem essa má criatura!
- Engana-se! Eu, sim, eu é que a conheço!
- Pois está aí, atrás da porta. Ouça-a. Vamos apanhá-la?
E, ambos, de mãos dadas, e em pontas de pés, aproximavam-se devagarinho da porta. Petrov abria-a bruscamente.
- Fugiu! - dizia com modos triunfais. - Ouviu a nossa conversa e fugiu. Oh! são o diabo! É muito difícil apanhá-las. Nem que uma pessoa gaste a vida inteira a persegui-las consegue um êxito razoável.
Um dia declarou que a enfermeira era a querida do guarda e que ambos tinham tido um filho, que ela acabara de matar; tinha-o asfixiado com uma almofada e, durante a noite, enterrara-o no bosque. Ele até sabia em que sítio a pobre criança estava enterrada.
Indignado ao ouvir tais acusações, Pomerantzev recuou uns passos, estendeu solenemente a mão direita, e disse com voz soturna:
- Sr. Petrov, o senhor é um monstro! Nunca mais lhe apertarei a mão. Vou convocar os nossos companheiros para julgarem a sua indigna conduta.
E, efectivamente, iniciou logo a organização de um tribunal. Gorou-se, porém, a tentativa. Mal Pomerantzev conseguira fazer que todos os doentes se sentassem em círculo, a senhora dos cabelos soltos propôs inesperadamente que se entretivessem um pouco a jogar às prendas, e não mais houve possibilidade de reunir o tribunal.
Meia hora depois, Pomerantzev e Petrov conversavam amigavelmente, como se nada tivesse acontecido: tinham esquecido em absoluto a desavença. E falavam, precisamente, da enfermeira e da sua beleza; ambos estavam de acordo em que era bela; mas Pomerantzev afirmava que ela era uma beleza de anjo, ao passo que Petrov sustentava que era uma beleza de demónio. E, logo a seguir, Petrov começou uma longa dissertação, em voz baixa, a respeito dos seus inimigos.
Tinha inimigos que haviam jurado perdê-lo. Publicavam nos jornais, dando a entender que se tratava de informações financeiras, artigos contra ele, artigos repletos de calúnias e insinuações; mantinham uma campanha persistente, utilizando cartazes e prospectos; perseguiam-no, por toda a parte, em automóveis barulhentos, espreitavam-no detrás das árvores. Tinham subornado os irmãos de Petrov e a sua velha mãe, que todos os dias lhe punha veneno na comida, razão por que ele se não atrevia a comer e estivera a ponto de morrer de fome. Sim, os seus inimigos eram poderosíssimos, podiam filtrar-se através das pedras, das paredes e das árvores. Certo dia, passava por um bosque, uma árvore inclinou-se sobre ele e estendeu os ramos para o estrangular. Quando, pela manhã, se levantava, não sabia se à noite pertenceria ao número dos vivos; ao deitar-se, não tinha nenhuma certeza de que não seria assassinado durante a noite. Os seus inimigos possuíam o dom de penetrar no seu corpo; e era vulgar acontecer que uma das suas pernas ou um dos seus braços paralisados por eles, deixava de obedecer-lhe. Também podiam penetrar-lhe na alma; com frequência, ao amanhecer, procuravam levá-lo ao suicídio e davam-lhe conselhos a respeito da maneira mais prática de o realizar; de uma vez aconselharam-no a partir um vidro da janela e a cortar, com um dos pedaços, a artéria do braço esquerdo, por cima do cotovelo. O Dr. Chevirev não ignorava que Petrov era perseguido por numerosos inimigos. Ainda na antevéspera, à noite, chegara a ponto de lhe dizer:
- O senhor, Petrov, é um homem muito infeliz!
Petrov gostou muito de ouvir aquelas palavras de verdade e de compaixão, mais merecedoras de estima por se saber, como ele sabia perfeitamente, que o doutor era um egoísta vulgar, um bêbado e um libertino, que fundara a sua clínica com o objectivo único de explorar os imbecis. Era muito provável que o doutor também fosse cúmplice de sua mãe e que só esperasse o momento mais favorável de o perder. Petrov, no domingo anterior, vira, com os seus próprios olhos, a mãe, escondida atrás duma árvore, a olhar fixamente para a sua janela; quando o ouviu gritar, afastou-se a correr. Tinha a certeza disso, mas, não obstante, o médico afirmava que não estava ninguém no jardim. Ele, porém, tinha-a visto ali, atrás daquela árvore, com a sua touca de pele e os seus terríveis olhos fitos na janela.
Enquanto falava destas coisas a Pomerantzev, parecia dominado por um terror que lhe amortecia a voz e se manifestava, também, na agitação da barba. Nem sequer reparou na saída de Pomerantzev e, sozinho no quarto, marchava para um e outro lado com um andar nervoso, apertava a cabeça com desespero entre as mãos, falava efusivamente e chorava. Depois começou a ameaçar, com os punhos fechados, os inimigos invisíveis e a chorar ainda mais amargamente. Instantes mais tarde, como se se tivesse recordado de qualquer coisa, animou-se e, com os olhos brilhantes, foi até à janela: espreitava sua mãe. Assim esteve durante uma hora. Várias vezes julgou divisar, atrás da esquina, a touca de pele, os olhos terríveis e o pálido rosto materno. Dispunha-se já a soltar um grito de horror quando a visão desapareceu. À volta, a neve fendia-se. Grossas gotas de água escorriam do telhado, das árvores, do muro. A atmosfera morna da Primavera envolvia o jardim. O dia estava claro, rútilo, luminoso.
A excitação de Petrov extinguiu-se, assim como os pensamentos fragmentários que lhe perturbavam o espírito. Apenas lhe ficou uma tristeza profunda. Estendeu-se na cama. Como se fosse um ser vivo, essa tristeza pousou-lhe sobre o peito e cravou-lhe as garras no coração. Assim permaneceram ambos, estreitamente unidos, enquanto lá fora, no jardim, caíam grandes gotas de neve derretida e tudo era claridade meridiana, luz radiante.
Vindo dos lados do tanque, ouvia-se um riso alegre; era Pomerantzev que lançava à água barquinhos de papel e ria, cheio de contentamento.
A enfermeira Maria Astafievna não estava enamorada de Pomerantzev; desde que entrara para a clínica, havia três anos, amava desesperadamente o Dr. Chevirev e não se atrevia a confessar-lhe o seu amor. Amava-o pela sua inteligência, pela beleza varonil, pela nobreza do seu coração, pelos perfumes especiais e aristocráticos que dele se evolavam continuamente, amava-o, enfim, porque nunca falava e porque parecia isolado, parecia infeliz.
Nos três compartimentos do andar superior em que o médico habitava, não havia pormenores de mobiliário, pedaço de papel ou quadro que lhe não fossem familiares. Precipitadamente abria quantos livros o via ler, como se quisesse procurar nas suas páginas o rastro do seu olhar melancólico. Sentava-se em todas as cadeiras e canapés, pensando que o doutor tinha estado sentado neles. Uma noite, encontrando-se ele, como de costume, no Café Babilónia, chegou a estender-se com solicitude na sua cama. A marca da sua cabeça ficou no travesseiro; assustada, ia fazê-la desaparecer quando, pensando melhor, renunciou a tal propósito e, durante toda a noite, metida entre os lençóis grosseiros do hospital, abrasada de rubor, de prazer e de amor, beijou loucamente o seu travesseiro de donzela. Tempos antes, encontrara no toucador do médico um frasco de perfume e borrifara o lenço, que guardava como se fosse um objecto precioso e cujo perfume saboreava, como um bêbado saboreia o aroma do vinho.
No andar superior, além dos três aposentos habitados, havia outro completamente deserto e com uma janela italiana que abarcava a parede quase em toda a extensão. As vidraças eram formadas por inúmeros vidrinhos coloridos cujo papel arquitectónico era puramente estético; observada do exterior, era agradável à vista; mas causava uma impressão estonteante e estranha quando se olhasse pelo lado de dentro. Sempre que subia ao andar de cima, a enfermeira quedava-se muito tempo naquele aposento a contemplar, através dos vidros policromos, a paisagem conhecidíssima e, não obstante, extraordinária, que dali se enxergava. O céu, o muro, o caminho, o prado e o bosque, olhados através dos vidros vermelhos, amarelos, azuis e verdes, transformavam-se de maneira fantástica; vendo-se através do conjunto dos cristais multicores, o efeito que obtinha era o de uma gama; mas se se olhasse através dum único vidro sofria-se uma emoção que variava conforme a cor. A que correspondia ao amarelo era muito inquietante; a paisagem parecia anunciar uma desgraça, evocar vagamente algum crime terrível. Ao olhar através do vidro amarelo, a enfermeira sentia uma tristeza infinita e perdia todas as esperanças de que o Dr. Chevirev casasse com ela. Se não fosse aquele vidro, há muito tempo lhe teria confessado o seu amor. E a todo o momento jurava não voltar a olhar por aquela janela; mas, apesar de tudo, continuava a olhar, cheia de medo e de tristeza, ante a estranha transformação da conhecidíssima paisagem. A pequena distância, entre a janela e o gabinete do médico, inquietava-se muito, como se pressentisse um perigo próximo e misterioso.
A solidão em que o médico vivia inspirava-lhe qualquer coisa muito semelhante a um sentimento maternal. Tratava da sua roupa e dos seus livros e sentia muito que a sua autoridade não pudesse estender-se à cozinha, principalmente porque, segundo o seu parecer, o doutor alimentava-se mal. Tinha ciúmes dos enfermeiros, do guarda, que o médico, uma vez por outra, encarregava de missões misteriosas, de quantos trabalhavam com o seu ídolo. Guardava na cómoda, apaixonadamente, junto do lenço perfumado, um volumoso caderno onde escrevia os seus pensamentos íntimos e onde pedia ao doutor que renunciasse às visitas quotidianas que fazia ao Café Babilónia, ao champanhe e à vida libertina de que ela suspeitava. Ao escrever a palavra libertina» sentiu um sofrimento tão intenso, teve tanta vergonha do médico e de si mesma, que não pôde escrever mais; e atirando-se para cima da cama sem largar o caderno, passou a noite a chorar e manchou duas páginas com as lágrimas.
No mesmo caderno, o Dr. Chevirev era enaltecido, mas com a condição de se casar com ela e de renunciar ao Babilónia e ao champanhe. Demonstrava que, no ponto de vista económico, tal coisa seria muito vantajosa para o médico; pois que se casasse com ele, deixaria de receber vencimentos. Prometia, além disso, ampliar, com autorização dele, a clínica e melhorar as condições de vida dos doentes, visto que sabia bastante de psiquiatria e notava as falhas da clínica. Pedia ao doutor - sempre no caderno - que resolvesse o problema o mais depressa possível, pois ela já tinha cumprido os vinte e quatro anos e em breve começaria a estiolar.
Havia dois anos que guardava o caderno e nunca se atrevia a entregá-lo ao doutor. Muitas vezes, na sua timidez e no seu desespero, invocava a morte. Quando morresse, certamente, o doutor havia de ler o que ela tinha escrito.
O médico de nada suspeitava. Todas as noites, pelas dez horas, dirigia-se ao Café Babilónia e por lá ficava até que amanhecesse, ao regressar, encontrava sempre no corredor a enfermeira, que o esperava.
- Ainda não se deitou? - perguntava-lhe em tom indiferente. - Boa-noite!
Ela, com uma voz mal perceptível, respondia:
- Boa-noite!
No Café Babilónia, o Dr. Chevirev era considerado um velho cliente, quase um familiar daquela casa, e uma personalidade importante, que ocupava ali o primeiro lugar, depois do dono. Conhecia todos os criados pelo nome, e bem assim os componentes da orquestra e os cantores russos e boémios. Tinha a sua parte nas alegrias e nas tristezas do estabelecimento, solucionava muitas vezes as desavenças entre a administração e os clientes embriagados. Bebia todas as noites três garrafas de champanhe, nem mais nem menos. E, considerando-se ali, não um médico, mas um particular, chegava a ponto de, em certas ocasiões, sorrir, o que nunca fazia na clínica; mas falava tão pouco como no hospital.
Até à meia-noite ou uma hora ficava na sala comum, à frente de uma das numerosas e pequenas mesas, no meio dum mar revolto de rostos, de vozes, de trajos, quase de costas para o palco onde, de quando em quando, apareciam cantores, cantoras, palhaços, acrobatas. Ressoava por toda a sala o ruído dos copos e dos pratos, as vozes sonoras, que se uniam num conjunto monótono e regular; a atmosfera estava impregnada de perfumes de mulher e de vapores de vinho; mulheres formosas, muito pintadas, deslizando entre as mesas, sorriam para ele; uma luz eléctrica deslumbradora inundava tudo.
Uns retiravam-se e logo outros ocupavam os seus lugares; mas dir-se-ia que se tratava sempre das mesmas pessoas, tão grande era a semelhança que havia entre elas sob o fulgor da luz eléctrica, no meio do ruído incessante e do cheiro capitoso do vinho e dos perfumes. É também assim que, durante uma nevada, caem diante dos vidros duma janela iluminada milhares de flocos de neve. Entretanto, parece que são sempre os mesmos, quando, na realidade, são sempre outros.
Não se dava conta do correr das horas. As garrafas esvaziavam-se. O ruído e o calor aumentavam; a atmosfera, ficava de cada vez mais e mais estonteadora e excitante. Não obstante, momentos havia em que, ao contrário, o ruído enfraquecia quase até ao silêncio e, então, ouvia-se qualquer palavra isolada que se pronunciasse no extremo oposto da sala; mas, imediatamente, o ruído se volvia intenso; intermitente, irregular, parecia subir uma escada em ruínas e cair, para logo recomeçar uma ascensão, dispersando-se por fim, como o fogo de artifício, em mil luzes multicores, vermelhas, verdes, amarelas. Nestes momentos, dir-se-ia que novas vozes, ora fortes, ora suaves, se misturavam com os gritos da multidão ululante, fragorosa; gritos isolados flutuavam, por vezes, sobre o ruído geral, semelhantes a flocos de espuma sobre as ondas; risos nervosos, histéricos, fragmentos de canções, juramentos furiosos. À medida que o tempo decorria, eram cada vez em maior número e mais frequentes as vozes iracundas que afirmavam e negavam. Não se sabia quem as tinha pronunciado; atravessavam o espaço como os morcegos, cegos pela luz deslumbrante. O cheiro dos perfumes e do vinho ia-se tornando mais forte e dificultava a respiração, como se o ar que ele impregnava fugisse das bocas avidamente abertas. À uma ou às duas da madrugada, costumavam aparecer alguns homens e mulheres que o doutor conhecia; no Babilónia tivera ocasião de conhecer quase toda a cidade. A alegre tertúlia ocupava depois um gabinete reservado e convidava o Dr. Chevirev. Acolhiam-no sempre com gritos alegres e chalaças; alguns, que se consideravam seus amigos, abraçavam-no. Ajudava a compor a ementa da ceia; escolhia os vinhos; indicava os melhores cantores e cantoras, que depois eram convidados a ingressar no gabinete. A seguir, sentava-se num extremo da mesa com a sua garrafa de champanhe, que os criados lhe levavam sempre que mudava de lugar. Sorria quando lhe dirigiam a palavra e dir-se-ia que falava muito, embora, na realidade, estivesse quase sempre calado.
De princípio, a temperatura no gabinete era bastante baixa; mas não tardava que a atmosfera aquecesse. Como o compartimento era muito mais pequeno do que a sala, quando se saía daquele, esta parecia mais estranha e mais desordenada. Bebia-se, ria-se, falavam todos ao mesmo tempo; ninguém ouvia as suas próprias palavras; trocavam-se declarações de amor, abraços e, às vezes, bofetadas.
O público mudava todos os dias. Ante o Dr. Chevirev passavam artistas, escritores, pintores, comerciantes, aristocratas, empregados públicos, oficiais chegados da província. Havia na tertúlia cocottes, senhoras dignas e, por vezes, raparigas puras e inocentes, encantadas com tudo que viam e que se embriagavam ao beberem a primeira gota de vinho. E, não obstante a sua variedade, toda aquela gente fazia a mesma coisa.
Pouco depois entravam os boémios, os homens altos, de grande pescoço e cara triste e aborrecida; as mulheres modestas, quase todas vestidas de cores escuras, indiferentes às conversas, às palavras que lhes dirigiam e aos vinhos que apareciam sobre as mesas. De repente, começavam todos a gritar, e o gabinete enchia-se de uma alegria louca, de uma tempestade de sons, de um furacão de paixões, como se tudo se alterasse e libertasse. A seguir começava o baile. Qualquer esqueleto vestido de mulher dava voltas como um peão junto da mesa, numa dança alucinada, frenética. O silêncio reinava de novo, e de novo se viam mulheres modestas vestidas de cores escuras e homens de semblante grave e triste. Durante momentos, as mulheres, cansadas, respiravam mais profundamente e as mãos da que tinha bailado tremiam.
Uma jovem boémia morena punha-se a cantar um solo». Baixava os olhos. Todos desejavam vê-los, mas ela não os erguia. Linda, morena, como que em êxtase, cantava:
Não devo amar-te, nem esquecer-te posso,
E dor profunda o coração oprime.
Contigo, o crime - mas sem ti, a morte!
Longe de ti, a minha vida é sombra.
Maldiga embora esta paixão insana,
Sinto prazer na sua angústia ingente.
Nem quero amar-te, nem esquecer-te posso.
Maldito o laço, mas ninguém o corta!
Cantava assim, sem olhar para ninguém, morena linda, como que em êxtase; parecia que não cantava uma canção, mas sim a realidade, e produzia em todos funda impressão. A tristeza invadia as almas, os corações enchiam-se de nostalgia de qualquer coisa desconhecida e bela, a memória evocava qualquer coisa que porventura jamais existira. E todos os que haviam conhecido o amor, bem como os que nunca o conheceram, suspiravam e bebiam vinho avidamente. E, enquanto bebiam, reparavam que não era mais do que uma falsidade, um engano, a vida sóbria que até então tinham vivido; que a vida verdadeira, real, estava ali, naqueles lindos olhos abaixados, naquelas exaltações do sentir e do pensar, naquela caneca que alguém acabava de partir e derramava sobre a toalha um vinho cor de sangue.
Aplaudia-se entusiasticamente a cantora e pedia-se mais vinho e mais canções. Depois, a pedido do Dr. Chevirev, cantava uma boémia já entrada em anos, de rosto flácido e olhos enormes e rasgados; nas suas canções aludia ao rouxinol, às entrevistas amorosas no jardim, ao amor juvenil e aos ciúmes. Estava grávida do sexto filho. A seu lado via-se o marido, um boémio alto, vestido de sobrecasaca, com a cara inchada por causa duma dor de dentes, que a acompanhava à guitarra. Ela cantava, referindo-se nas suas canções ao rouxinol, às noites de luar, às entrevistas deliciosas no jardim, ao amor juvenil, e também as coisas que cantava produziam uma impressão de realidade, não obstante a sua gravidez e o seu rosto envelhecido. E era assim até que amanhecia.
O Dr. Chevirev não fazia esforços para conservar na memória os nomes dos seus amigos do Babilónia e não reparava que eles iam sendo substituídos por outros. Permanecia calado, sorria quando se lhe dirigiam, bebia o seu champanhe enquanto os mais gritavam, bailavam com os boémios, se alegravam ou entristeciam, riam ou choravam. Era uma alegria estúpida a que, em geral, reinava na tertúlia, o que não obstava a que, uma vez por outra, também nela acontecessem coisas lamentáveis.
Dois anos antes, enquanto uma jovem e bela boémia cantava, um estudante disparou contra si um tiro; afastou-se, inclinou-se como se fosse cuspir e disparou o revólver na boca, que ainda cheirava a vinho. Numa outra noite, um dos amigos do médico, momentos depois de o abraçar e de abandonar o Babilónia, foi roubado e assassinado numa casa de jogo. Alguns anos antes, o doutor conhecera ali o seu doente Petrov; naquela época, Petrov usava uma linda pêra, ria, lançava vinho nas floreiras e fazia a corte a uma formosa boémia. Agora usava compridas barbas em desalinho e estava internado num manicómio; a boémia tinha desaparecido. Ou talvez nunca existisse e o doutor a tivesse inventado. Quem sabe?
O Dr. Chevirev acabava, pelas cinco da manhã, a sua terceira garrafa de champanhe e regressava a casa. No Inverno, visto que àquela hora ainda era noite, tomava um carro; mas na Primavera e no Verão, se fazia bom tempo, regressava a pé. Palmilhava uns cinco a seis quilómetros até chegar à sua clínica. Tinha de atravessar uma grande aldeia, seguir depois o caminho, rasgado entre planícies, e cruzar, por último, o bosque.
O Sol nascia, e parecia que os seus olhos ainda estavam vermelhos de sono; tudo à volta - o pequeno bosque, as árvores, a poeira do caminho - surgia levemente tingido de uma cor-de-rosa desmaiado. De quando em quando o doutor encontrava-se com camponeses que, nas suas carripanas, se encaminhavam para o mercado da cidade. As suas faces e as suas atitudes exteriorizavam ainda a impressão do frio da noite. Atrás dos carros erguiam-se leves nuvens de pó. Cães pequeninos brincavam perto duma taberna. Uma vez por outra passavam pelo caminho homens com sacos às costas, criaturas misteriosas, daquelas que sempre, a toda a hora, vão a alguma parte. O bosque estava ainda rociado do orvalho; os raios de sol não tinham tido tempo de evaporar a humidade nocturna; e era por isso que o doutor preferia dar uma volta e caminhar em campo aberto.
Bem barbeado, muito peralta com o seu coco elegante, balanceava negligentemente a mão enluvada e assobiava, acompanhando as aves, cujas canções ressoavam no espaço. Deixava atrás de si, no ar fresco da manhã, um leve cheiro de perfumes, de vinho e de cigarros fortes.
Ao Verão sucedeu o Outono, frio e chuvoso. A chuva, durante duas semanas, quase não parou. Nas raras horas de intervalo, névoas frias levantavam-se de todos os lados, semelhantes a cortinas de fumo. Um dia, a neve caiu em grandes flocos brancos; estendeu-se, como um brando tapete em pedaços, sobre as ervas, ainda verdes, e a seguir derreteu-se, aumentando a frialdade e a humidade do ar. As luzes na clínica acendiam-se às cinco horas da tarde. Não se via um raio de sol de manhã à noite, e as árvores, por trás dos vidros, agitavam os ramos tristemente, como se quisessem soltar as derradeiras folhas.
O ruído incessante da chuva sobre o telhado de zinco, a ausência do Sol e a falta de distracções faziam que os doentes andassem nervosos, excitados. Davam-lhes ataques com mais frequência e queixavam-se constantemente. Alguns constiparam-se. O doente que batia às portas, teve uma inflamação pulmonar e, durante dias, esteve em riscos de morrer. Pelo menos, o doutor afirmava que, no seu lugar, qualquer outro não sobreviveria. Dir-se-ia que a sua vontade indomável, a sua mania de que todas as portas deviam abrir-se, tinham-no couraçado contra todos os males físicos, tornado invulnerável, quase imortal. A doença nada podia contra o seu corpo, até por ele mesmo esquecido. Nem nos seus momentos de delírio deixava de bater às portas, de pedir, de suplicar e até de exigir com voz terrível e ameaçadora que as abrissem; a enfermeira tinha medo de ficar com ele durante a noite, embora lhe tivessem posto uma camisa de forças e o prendessem à cama. Melhorava rapidamente. O médico deu ordem para que deixassem sempre aberta a porta do seu quarto, e, como o doente não se lembrava de que na casa havia outras portas fechadas, estava muito contente. Mas, logo que abandonou o leito, começou a bater na porta vizinha.
Pomerantzev também se constipou. Teve um forte defluxo; além disso perdeu a voz e só podia falar baixinho. Andava, contudo, bem humorado. No Verão, tinha semeado um valado de melancias e, quando elas amadureceram, presenteou a enfermeira com a mais bela. Esta quis dá-la à cozinheira para servir à mesa; mas Pomerantzev não consentiu em tal; foi ele mesmo colocá-la sobre o velador, no aposento da enfermeira, e aparecia a todo o momento para a admirar; aquela melancia lembrava-lhe vagamente o globo terrestre e sugeria-lhe grandes ideias.
O médico ofereceu-lhe dez bilhetes postais ilustrados e Pomerantzev dedicou-se à tarefa de organizar um catálogo dos seus quadros. Trabalhou durante muito tempo no desenho da capa. Começou por desenhar a sua própria pessoa, como proprietário dos quadros, o que lhe deu tanto prazer que repetiu o retrato em todas as páginas. Depois pediu ao médico uma grande folha de papel e desenhou uma vez mais a sua imagem, sob a qual escreveu em letras muito grandes: Georgi, o Vitorioso». Colocou o quadro numa parede da sala de jantar, muito perto do tecto, e os doentes que o viam davam-lhe os parabéns.
O mau tempo, contudo, exercia também sobre ele influência perniciosa. Os seus sonhos nocturnos tornaram-se inquietantes e belicosos. Todas as noites era atacado por uma multidão de diabos que pingavam água e de mulheres vermelhas de aspecto infernal, parecidas com a sua. Lutava durante muito tempo, denodadamente, com os inimigos, e acabava por escorraçá-los; duendes e mulheres fugiam o mais que lhes era possível ante a sua espada, soltando gritos de terror e gemidos lastimosos. Mas, pela manhã, depois de tão feras batalhas, Pomerantzev estava tão cansado que, para recobrar forças, tinha de ficar na cama umas horas mais.
- Naturalmente, eu também recebi algumas pancadas - confessava com toda a franqueza ao Dr. Chevirev. - Um diabo muito grande pegou numa trave e atirou-ma às pernas, o que me fez cair, e depois pretendeu estrangular-me. Mas acabei por vencê-lo. Levou a sua conta!... Ao fugirem, ameaçaram voltar esta noite. Se o senhor ouvir barulho não se assuste; mas venha e verá. É interessante, garanto-lhe!
E continuava, por longo tempo, a falar, com grande abundância de pormenores, da peleja nocturna.
Entretanto, de todos os doentes, o que estava pior era Petrov. Os nevoeiros outonais que, entrando pelas janelas, invadiam a clínica inspiravam-lhe a ideia de tudo ter acabado; a cada momento esperava um acontecimento terrível. Era tão intenso nele o pressentimento duma desgraça próxima, que permanecia horas e horas imóvel, sem se atrever a levantar-se. Estava convencido de que, enquanto não se mexesse, nada de mau podia acontecer-lhe e de que bastaria levantar-se, mudar de sítio, voltar apenas a cabeça, para que a terrível desgraça fosse um acontecimento imediato. Entretanto, uma vez em pé, e tendo começado a andar, já não ousava parar, visto parecer-lhe que o perigo estava, precisamente, na quietação. E andava cada vez mais depressa, voltando-se com crescente frequência, lançando olhares de pavor em todas as direcções, até cair sobre a cama, morto de cansaço.
À noite, escondia a cabeça debaixo das almofadas e dos lençóis, a ponto de sufocar; mas não se atrevia a arrancá-la de lá, embora o aposento estivesse bem iluminado e uma enfermeira, a quem o médico, em face do estado inquietante de Petrov, incumbira de o vigiar durante a noite, dormisse perto da sua cama. Como acontecia durante o dia, Petrov, umas vezes, não ousava mover-se e parecia um cadáver, e outras vezes estremecia todo, como se tremesse de frio. Todo o seu horror se concentrava na mãe, na pobre velha de cara pálida. Já não pensava em que era cúmplice dos médicos que queriam perdê-lo. Nem sequer raciocinava acerca do horror que lhe causava; mas receava ver-lhe a cara e ouvi-la dizer: Meu filhinho!».
Não sabia o que iria acontecer naquele momento e não se atrevia a pensar em tal. E a todo o instante sentia que a pobre velha estava ali, muito perto, certo de que ela passeava pelo bosque próximo, com a sua touca de peles, e de que se escondia debaixo da mesa, em todos os cantos escuros. Durante a noite, permanecia de pé atrás da porta, a procurar abri-la suavemente.
No domingo anterior, pela manhã, tinha estado a vê-lo. Durante uma hora, chorara no gabinete do médico; Petrov não a viu; mas à meia-noite, quando todos já dormiam, teve um ataque de loucura. Chamaram o médico, que estava no Babilónia, a toda a pressa, mas, quando ele chegou, Petrov já se encontrava muito melhor, graças à presença de gente e a uma forte dose de morfina que lhe tinham injectado; continuava, porém, a tremer, dos pés à cabeça, e a arquejar. Quase a sufocar, ia e vinha de um quarto para outro e dizia mal de tudo e de todos: da clínica, do pessoal, da enfermeira, que dormia em vez de velar. Quando o médico entrou, recebeu-o irado:
- Tem graça esta casa de loucos! - gritava, sem se deter. - Ora, que casa de loucos! Nem sequer fecham, de noite, as portas, e qualquer... se lhe apetece... Hei-de queixar-me! Se o senhor nem sequer pode ter um guarda, para que se põe a abrir clínicas? Isto é uma burla, uma vigarice! Sim, senhor, uma vigarice! O senhor rouba os seus doentes! Abusa da confiança que depositam em si! Julgam-no um homem honrado, e o senhor...
- Vamos a ver o pulso... - disse o Dr. Chevirev.
- Tome-o, se quiser; mas não pense que vou deixar-me enganar com o pulso e outras bagatelas.
Petrov parou e, olhando com ira o rosto barbeado do médico, perguntou de repente:
- O senhor estava no Babilónia?
O médico fez um sinal afirmativo.
- O quê! Está-se bem ali?
- Está.
- Também sou de parecer que se está bem! Por que não? Contudo, é preciso ter o cuidado de mandar fechar as portas. Não deve esquecer a clínica por causa do Babilónia.
Pôs-se a rir às gargalhadas; mas os lábios tremiam-lhe e o riso lembrava o latir de um cão enregelado.
- Está bem; vou dar ordem para que fechem sempre as portas. Peço-lhe que me perdoe; foi um descuido do pessoal.
- Talvez esse descuido não tenha importância para o senhor, mas para mim pode ter uma importância muito grande... Vá lá... por esta vez, está perdoado.
A seguir, dirigindo-se ao enfermeiro e aos guardas, disse-lhes com severidade:
- Ouviram? Fechem já as portas!
E acrescentou, a rir:
- Caso contrário, iremos imediatamente, eu e o doutor, passar um bocado no Babilónia.
Quando se conseguiu que Petrov recolhesse ao quarto e se deitasse, o médico subiu aos seus aposentos. No corredor, junto da escada, encontrou a enfermeira; estava completamente vestida e os seus olhos brilhavam.
- Doutor! - murmurou.
Estava tão comovida que não podia continuar.
- Doutor! - repetiu, sem elevar a voz.
- Ah, é você! Então, ainda não se deitou? Já é tarde.
- Doutor!
- Que há? Precisa de alguma coisa?
- Doutor!
Faltou-lhe a coragem. Queria dizer-lhe tantas coisas! Poderia falar-lhe do seu amor, do Babilónia, do champanhe, de que abusava. Mas limitou-se a perguntar:
- É preciso dar-se brometo a Polakov?
- Imediatamente! Boa-noite!
- Muito boa-noite. Volta a sair?
O doutor consultou o relógio. Eram três e meia.
- Não, é muito tarde. Já não saio.
- Que bom!
Abafou um soluço e refugiou-se no quarto, a chorar, tão pequenina no extenso e largo corredor que parecia uma menina. O médico seguiu-a com a vista, consultou, de novo, o relógio e, fazendo um movimento com a cabeça, dirigiu-se para os seus aposentos.
O seguinte foi um dia cinzento, e, embora não tivesse chovido, esteve muito frio. A lama não demorou muito a secar. Às quatro horas, quando foi permitido que os doentes saíssem a tomar ar, os arruamentos estavam completamente secos, o solo parecia de pedra e as folhas caídas estalavam debaixo dos pés.
O Dr. Chevirev, Pomerantzev e Petrov passeavam ao longo da avenida. O médico e Petrov guardavam silêncio; Pomerantzev distraía-se a enterrar os pés nas folhas secas e, a todo o instante, olhava para trás a ver se ficavam pegadas. Falava a respeito do Outono na Crimeia, não obstante nunca lá ter estado, a respeito da caça, que não conhecia, e a respeito de muitas outras coisas incoerentes, mas divertidas e não desprovidas de interesse.
- Sentemo-nos um pouco! - propôs o médico.
Sentaram-se num banco e o médico ficou entre os dois doentes. Viam, à frente, o céu frio, com nuvens cinzentas e esmaecidas, muito altas. Descia a escuridão. À distância, por cima das árvores do bosque, que já mal se enxergava, movia-se um bando de gralhas em busca dum lugar onde passar a noite. Formavam uma vasta fita viva e, embora fossem muitas, exteriorizavam nos seus gritos um sentimento de solidão, o temor duma interminável noite fria, uma queixa dolorosa. Algumas gralhas destacaram-se do bando e, quando estavam mais perto, pôde notar-se que quatro delas perseguiam uma outra; depois todas desapareceram para além do bosque.
Petrov, calmo, quase refeito do ataque da véspera, olhava fixamente, para as aves, ora para o médico. Guardava um silêncio tenaz. Pomerantzev também estava mudo e, com expressão grave, fitava as alturas.
- Deve estar-se bem, agora, em casa - disse com uma voz que parecia, não se sabe por quê, de espanto. - Não seria mau que fôssemos tomar chá.
- Andam a voar por aqui! - disse Petrov.
Ficou pálido e aproximou-se mais do médico.
- Vamos? - perguntou este. - O Sr. Pomerantzev vá à frente.
Estas palavras soaram aos ouvidos de Pomerantzev como uma chamada ao poder. Levantou-se orgulhosamente e começou a marchar com passo firme, imitando com as mãos os movimentos dum tambor e trauteando qualquer coisa parecida com um hino de guerra.
- Tão-tarão-tão-tão! Tão-tarão-tão-tão!
Desta maneira, a tamborilar e a andar com passo marcial, avançava à frente do médico e de Petrov, que, inconscientemente, obedeciam ao ritmo. Petrov encostava-se ao médico e olhava com angústia, voltando a cabeça, o bando de gralhas no céu frio e cada vez mais escuro.
- Tão-tarão-tão-tão! Tão-tarão-tão-tão!
O guarda, que vira o médico aproximar-se, abriu a porta de par em par. Pomerantzev foi o primeiro a entrar, com passo solene, a cabeça orgulhosamente deitada para trás e a tamborilar. Os outros seguiam-no. No limiar da porta, Petrov lançou um olhar para trás, e no seu rosto surgiu uma expressão horrível de medo.
À meia-noite ergueu-se um forte vendaval. Sacudia o zinco do telhado e dir-se-ia querer atacar furiosamente toda a clínica. E, naquela noite, Petrov morreu de terror.
O cadáver foi levado para um vasto compartimento frio, que existe em todos os hospitais, destinado a tal fim; lavaram-no e vestiram-no com uma sobrecasaca preta, que apertaram sobre o peito.
No dia seguinte, vieram a mãe de Petrov e seu irmão mais velho, um escritor muito conhecido. Passaram alguns momentos com o morto e, depois, voltaram ao gabinete do médico. A velha, alquebrada pela dor, deixou-se cair no sofá, mal entrou na sala de Chevirev; pequena, consumida por uma longa vida de sofrimentos, parecia um fantasma negro, de faces pálidas e cabelos brancos. Vertendo lágrimas frias, começou a falar prolixamente do amor que a família dedicava ao seu filho Sacha e do terrível golpe que tinha sido para todos a sua inesperada doença. Nunca tinha havido loucos na família, nem sequer nas gerações precedentes. O próprio Sacha tinha sido sempre um rapaz de juízo, posto que um pouco desconfiado. A velha insistia nesta referência. Poder-se-ia pensar que procurava justificar-se, demonstrar alguma coisa; mas nada conseguia.
O médico tentava, com breves réplicas monossilábicas, tranquilizá-la; o escritor, alto, sombrio, de cabelos negros, um pouco parecido com o irmão morto, passeava nervosamente de um a outro extremo da sala, puxava pelas barbas, olhava pela janela e dava a entender claramente, com a sua atitude, que as palavras da mãe lhe eram desagradáveis. Tinha opinião formada acerca da doença do irmão, uma opinião muito profunda, baseada nos dados da ciência e no seu conhecimento pessoal das misérias da vida. Mas, agora, já que Sacha havia morrido, não queria falar de tal coisa, sobretudo porque se via obrigado a insistir no tocante ao mau carácter do defunto.
Por fim, não podendo mais conter-se, interrompeu a mãe:
- Mamã, são horas de nos retirarmos. Estamos a incomodar o senhor doutor.
- Vamos já, meu filho. Só duas palavras, e vamos.
E de novo se pôs a falar, a justificar-se e a pretender demonstrar qualquer coisa, sem o conseguir. O filho observava com malévola curiosidade a cabeça trémula e encanecida da mãe: recordava as coisas insensatas que lhe dissera pelo caminho e pensava que ela estava louca; que, por baixo, nos quartos fechados, havia loucos; que o irmão, que acabava de morrer, também estava louco e nunca parava de inventar histórias ridículas, vendo inimigos em todos os cantos, imaginando que a cada passo o perseguiam. O pobre diabo imaginava ter inimigos! Que diria se, na verdade, os tivesse tido como ele, o escritor, inimigos reais, poderosos, implacáveis, infatigáveis, capazes até de recorrerem à calúnia e à denúncia?
- Mamã, é preciso irmo-nos embora!
- Vamos já, meu filho! Diga-me, doutor, poderei passar a noite junto do meu Sacha? Está só, coitadinho! Ninguém, na nossa família, tinha morrido num hospital, e o meu pobre filho...
E pôs-se a chorar.
O médico autorizou-a a passar a noite junto do defunto. A mãe e o filho retiraram-se. Pelo caminho, a velha recomeçou a dizer coisas insensatas; o filho fazia gestos de impaciência e olhava com mau humor para os campos tristes, que o Outono despojara dos seus atavios.
Como Pomerantzev era dotado dum carácter tranquilo, nunca lhe fechavam a porta do quarto. Andou, por isso, durante todo aquele dia, à vontade na clínica. Assistia a todos os serviços religiosos fúnebres, distribuía velas, recolhia-as logo a seguir, e, se alguém se esquecia de apagar a sua, ele corria a apagá-la, emitindo um sopro.
O morto era, para ele, motivo de grande curiosidade. De meia em meia hora, ia vê-lo à câmara ardente, ajeitar sobre o cadáver o lenço que o cobria e compor-lhe a sobrecasaca. Estava convencido de que o seu papel, ali, não era menos sério e importante que o do morto. Ele estava vivo e em plena actividade, o que não era menos interessante, misterioso e solene do que estar morto e metido no caixão. Enquanto errava por toda a clínica, de um para outro lado, pensava nas palavras comovedoras e transcendentes que acabava de ouvir no decorrer do serviço religioso: Defunto, chamado por Deus ao reino dos céus» e outras. Tais palavras e quanto naquele dia acontecera deixavam-no felicíssimo; mas, no mais fundo da sua alma, sentia uma inquietação estranha, como se se tivesse esquecido de qualquer coisa muito importante e não pudesse recordá-la, apesar de todos os seus esforços. Por vezes, no seu vaivém incansável, parava e, com ar preocupado, coçava a testa. Frequentemente, pedia ordens à enfermeira.
- Mandou-me fazer alguma coisa? Parece-me que já está tudo pronto.
A enfermeira, que, entretanto, se sentia feliz, porque o médico, havia algumas noites, não voltara ao Babilónia, respondia afectuosamente:
- Sim, querido Georgi Timofeievich, o senhor tem tudo pronto. Estamos-lhe, eu e o doutor, muito gratos. Compreendeu? Eu e o doutor! Eu e o doutor...
- Ainda bem. Estava com receio de ter deixado alguma coisa por fazer.
E seguia apressadamente o seu caminho.
Ao chegar a noite, foi em vão que Pomerantzev se esforçou por adormecer: dava voltas na cama, suspirava; pensava em mil coisas, mas não conseguia dormir. Depois tornou a vestir-se e foi ver o morto. O vasto corredor estava alumiado por uma única lamparina e, nele, enxergava-se a custo. Na câmara funerária estavam acesos três grossos círios, além de outro, muito fino, que iluminava o breviário lido em voz alta por uma monja chamada para velar o cadáver. Havia muita luz no aposento; o ar estava saturado de aroma de incenso. Quando Pomerantzev entrou, o seu corpo projectou no solo e nas paredes algumas sombras vacilantes.
- Dê-me o seu breviário, irmãzinha - disse Pomerantzev à monja. - Substituí-la-ei durante algum tempo.
A monja, que, quando jovem, passava a vida a ler orações à cabeceira dos mortos, aceitou com prazer o convite e retirou-se para um canto do quarto. Tomara Pomerantzev por um elemento do pessoal da clínica ou por um parente do defunto.
A mãe de Petrov, embrulhada num xale preto, levantou-se, naquele instante, do canapé em que estava sentada. A sua pequenina cabeça encanecida tremia; o seu rosto era tão pulcro na sua senilidade como se cada ruga fosse lavada dez vezes por dia. Estava havia muito tempo no canapé, sem dormir, recolhida nos seus pensamentos tristes.
Pomerantzev começou por ler muito bem, com voz nítida; mas os círios e as flores que cobriam o corpo em breve lhe atraíram a atenção. Acabou por se pôr a ler sem nexo, passando em claro muitas linhas. A monja aproximou-se sem que ele a sentisse e, com suavidade, tirou-lhe o breviário da mão. De pé ante o caixão, Pomerantzev, com a cabeça levemente inclinada para um lado, contemplou o morto durante momentos, admirando-o, como um pintor admira um quadro seu. A seguir arranjou um pouco a sobrecasaca do defunto e, como se quisesse tranquilizá-lo, disse-lhe:
- Dorme em paz, meu irmão! Não tardarei a voltar.
- O senhor conhecia o meu pobre Sacha? - perguntou a velha, aproximando-se.
Pomerantzev voltou-se para ela.
- Sim - disse resolutamente; - Era o meu melhor amigo. Um amigo de infância.
- Eu sou a mãe dele. Gosto muito de o ouvir falar assim do meu pobre Sacha. Não o incomoda que fale um pouco consigo?
Pomerantzev imaginou-se o Dr. Chevirev, a escutar as queixas dos enfermos. Tomando uma atitude circunspecta, atenciosa e suplicante, respondeu com muita cortesia:
- Estou às suas ordens! Tenha a bondade de se sentar. Ficará mais à vontade.
- Não, muito obrigada; estou bem assim. Diga, senhor, não é verdade que o meu pobre Sacha não era mau homem?
- Era um excelente homem! - exclamou Pomerantzev com uma entoação de sinceridade. - Era o melhor dos homens que tenho conhecido. É claro que tinha os seus defeitos; mas... quem os não tem?
- É o que eu digo; mas o meu filho segundo, Vasia, aborreceu-se. Sou tão feliz ouvindo o senhor! É uma grande consolação para mim... Diga, senhor, o meu pobre Sacha nunca se queixava de mim? Coitadinho! Estava convencido de que eu não gostava dele e, pelo contrário, pode crer-me, eu queria-lhe muito, muito...
E, a chorar, contou a Pomerantzev todos os seus sofrimentos, todas as suas dores de mãe que via o filho perdido e nada podia fazer por ele. E mais uma vez pareceu querer justificar-se, demonstrar qualquer coisa, sem o conseguir. Dir-se-ia que tanto ela como Pomerantzev, que apoiava tranquilamente o cotovelo no caixão, tinham esquecido o morto; a velha estava tão perto da morte que não lhe dava grande importância e concebia-a como uma outra vida misteriosa; Pomerantzev, pelo seu lado, nem sequer pensava nela. Contudo, as lágrimas da velhinha de cabelo branco comoveram-no e ele, de novo sentiu uma vaga inquietação.
- Deixe ver o pulso! - disse-lhe. - Está bem. Não se preocupe. Tudo se há-de arranjar o melhor possível. Farei tudo quanto estiver nas minhas mãos. Pode, minha senhora, ficar absolutamente tranquila.
- O senhor enche-me de alívio. Como o senhor é bom! Agradeço-lhe com toda a minha alma.
E a velha, de súbito, agarrou a mão de Pomerantzev e levou-a aos lábios.
Ele pôs-se muito corado, como se põem os homens que já embranquecem e têm rugas na cara, e exclamou indignado:
- Então, minha senhora, então! Beija-se assim a mão aos homens?
E saiu da sala.
O corredor estava mal iluminado. Pomerantzev caminhava lentamente. De repente viu, a poucos passos de distância, S. Nicolau, o taumaturgo. Era um bonequinho de cabelo grisalho, com pantufas tártaras muito aguçadas e uma pequena auréola à volta da cabeça. Pomerantzev marchava cabisbaixo, assim como o Santo, sem ruído algum, parecendo andar sobre um tapete fofo. Um e outro guardaram silêncio durante um largo momento. Caminhavam a par e absortos nas suas reflexões. O corredor parecia interminável. De ambos os lados, viam-se portas brancas e fechadas; atrás de algumas reinava silêncio absoluto; atrás de outras adivinha-se uma leve agitação: a dos doentes insones, que não podiam estar quietos. O corredor nunca mais acabava e as portas eram muito numerosas. Por trás de uma delas, ao lado esquerdo da passagem, ouviram um ruído seco e monótono; o louco que batia às portas entregava-se infatigavelmente à sua ocupação predilecta.
- Bate! - disse Pomerantzev a S. Nicolau, sem erguer a cabeça.
- Bate! - respondeu o outro, igualmente sem erguer a cabeça.
- Muito bem!
- Sim, muito bem! - confirmou S. Nicolau.
E continuaram a andar, um e outro absortos nas suas meditações.
- Por que é que sinto às vezes no peito, debaixo do coração, qualquer coisa que me oprime, que me magoa? Dize, Nicolau.
- É natural! Numa casa de loucos, o menos que qualquer criatura pode fazer é aborrecer-se uma vez por outra.
- Pensas assim?...
Pomerantzev voltou-se para S. Nicolau. Este olhava-o afectuosamente e sorria com doçura. Tinha os olhos banhados de lágrimas.
- Por que choras? Sorris e choras ao mesmo tempo.
- E tu? Tu também sorris e choras.
E continuaram a andar, absortos nas suas meditações.
- Bate! - disse Pomerantzev.
- Bate! - respondeu S. Nicolau.
- Tenho pena de ti, Nicolau. Apesar de estares tão velho, tão doente, tão falto de forças, andas continuamente, voas sem descanso sobre a terra e não te preocupas. Agora vieste pelos ares para me fazeres uma visita. Vejo que não me esqueces.
- Não tem importância: trago pantufas. É mais difícil voar com botas.
- Bate! - disse Pomerantzev. - Vamos voar até qualquer sítio, queres? Pois, como vês, aqui aborreço-me. Aborreço-me tanto! Além disso, doem-me as pernas.
- Está bem, vamos voar! - concordou S. Nicolau.
E voaram.
No corredor, mal iluminado, reinava um silêncio inquietante. Por trás das portas fechadas ouvia-se a conversa dos doentes que não sabiam o que era o descanso. No fim do corredor, atrás de uma porta até então silenciosa, ouviu-se um grito:
- Qui-qui-ri-qui!
Soltava-o um doente que se julgava um galo. Com a pontualidade de um cronómetro, acordava à meia-noite, às três e às seis horas, agitava os braços, como se fossem asas, e gritava imitando um galo e acordando os outros doentes.
Naquele momento ninguém acordou. O doente que se julgava um galo voltou a adormecer. Tudo ficou outra vez tranquilo. Por trás de uma porta, do lado esquerdo da passagem, o doente continuava a bater de maneira regular e monótona; mas aquele ruído não perturbava o silêncio, porque se confundia com ele.
A noite avançava e o doente continuava a bater à porta. No Café Babilónia já todas as luzes estavam apagadas, e ele continuava a bater, loucamente obstinado, infatigável, quase imortal.
Leonid Andreyev
HISTÓRIA DO MEU POMBAL
Quando era criança, o meu grande desejo era ter um pombal. Nunca conheci desejo mais forte. Aos nove anos o meu pai prometeu-me dinheiro para tábuas e para três casais de pombas. Foi em mil novecentos e quatro. Eu preparava-me para passar os exames para o grau preparatório no liceu de Nikolayev. A minha família vivia então na cidade de Nikolayev, província de Jerson. Hoje a província não existe: aquela nossa cidade foi incorporada à região de Odessa.
Tinha apenas nove anos e temia os exames. Em ambas as cadeiras, Russo e Matemática, não podia tirar menos de cinco pontos(1). A percentagem no nosso liceu era muito pequena: cinco por cento. De quarenta crianças, só se podiam matricular no grau preparatório dois judeus. A estas crianças, os professores perguntavam com arte: não interrogavam ninguém com tantas argúcias como a nós. Por isso o meu pai me prometeu as pombas em troca de dois cincos com cruzes. Tinha-me totalmente martirizado; caí numa modorra interminável, num longo sonho infantil de desespero. Submerso nesse torpor fui a exame, e, não obstante, passei a prova melhor do que os outros.
Tinha jeito para as ciências. Os professores, apesar de todas as suas argúcias, não me podiam privar da inteligência e de uma memória ávida. Depois tudo mudou. Jariton Efrussi, armazenista de cereais, que exportava trigo para Marselha, deu quinhentos rublos pelo filho, a mim deram-me um cinco com menos em vez do cinco, e no meu lugar entrou para o liceu Efrussi filho. O meu pai não encontrava consolação. Desde os seis anos que me ensinava todas as ciências que eu podia assimilar. O sinal menos encheu-o de desespero. Quis bater em Efrussi ou subornar dois estivadores para que batessem em Efrussi, mas a minha mãe dissuadiu-o e eu comecei a preparar-me para os exames do ano seguinte para o primeiro grau. Sem eu saber, os meus pais animaram o professor a passar num ano o curso preparatório e de primeiro grau e, como estávamos desiludidos de tudo, decorei três livros de texto. Os três livros eram a gramática de Smirnovski, o compêndio de problemas de Evtushevski e a história inicial da Rússia de Putsikovich. As crianças já não estudam hoje por esses manuais, mas eu aprendi-os de cabo a rabo, e no ano seguinte, no exame de língua russa, o professor Karavayev deu-me um insuperável cinco com uma cruz.
Esse Karavayev era um homem corado e violento, procedente do estudantado moscovita. Contava trinta anos escassos. Nas faces viris ardiam cores de camponês abastado; numa das faces tinha uma verruga da qual nascia um mato de pêlos de gato cinzentos. Além de Karavayev, assistiu ao exame Piátnitski, vice-reitor, considerado pessoa importante no liceu e em toda a província. O vice-reitor fez-me perguntas acerca de Pedro Primeiro; senti uma sensação de aturdimento, uma sensação de proximidade do fim e do abismo, um abismo seco, enxuto de exaltação e desespero.
Sabia Pedro Primeiro de memória pelo manual de Putsikovich e pelos versos de Puchkine. Grunhi os versos, os rostos humanos voltaram-se nos meus olhos e baralharam-se ali como cartas novas. Misturaram-se no fundo dos meus olhos enquanto eu, trémulo, erguendo-me e apressando-me, gritava a plenos pulmões o poema puchkiniano. Gritei-os durante muito tempo: ninguém interrompeu a minha demencial e balbuciante verborreia. Através de uma cegueira purpúrea, através da liberdade que me arrebatava, só percebia o rosto velho, inclinado, de Piátnitski com a sua barba prateada. Não me interrompeu e só disse a Karavayev, satisfeito comigo e com Puchkine:
- Que povo - murmurou o ancião - estes judeus. Levam o Diabo dentro.
Quando me calei, disse-me:
- Bom, vai-te embora, meu amigo...
Saí para o corredor e ali, encostado à parede, comecei a despertar da convulsão dos meus sonhos. As crianças russas brincavam ali à volta, a campainha do liceu estava pendurada junto da caixa da escada oficial, o contínuo dormitava numa cadeira em mau estado. Eu contemplava o contínuo e acordava. Os outros rapazes aproximavam-se de mim por todos os lados. Vinham dar-me beliscões ou brincar, mas nisto Piátnitski apareceu no corredor. Ia-me ultrapassar mas deteve-se um momento; o casaco formou uma ondulação complicada e lenta nas suas costas. Notei perturbação naquelas costas espaçosas, carnudas e senhoriais e avancei para o velho.
- Meninos - disse ele aos alunos - , não toquem neste rapaz. - Colocou a mão gorda e suave no meu ombro e prosseguiu, voltando-se para mim: - Amigo, diz ao teu pai que ingressaste no primeiro grau.
Uma estrela exuberante refulgiu-lhe no peito, as ordens tilintaram no rebuço. O seu corpo grande, negro, uniformizado, afastou-se sobre umas pernas rígidas. O corpo seguia comprimido pelas paredes foscas, movia-se entre elas como se move uma barcaça num canal profundo e desapareceu na porta do gabinete do reitor. Um empregado levou-lhe chá, com um ruído solene, e eu comecei a correr para a loja, para casa.
Na loja um comprador aldeão hesitava cheio de indecisões. Ao ver-me, meu pai abandonou o camponês e não duvidou do meu relato. Gritou ao empregado que fechasse a loja e foi à Rua Sobornaya para me comprar uma gorra com escudo. A minha pobre mãe resgatou-me com dificuldade daquele homem enlouquecido. Naquele momento minha mãe estava pálida e desafiava o destino. Tão depressa me acariciava como me afastava com repugnância. Disse que a lista dos matriculados no liceu se publica nos jornais e que Deus nos castigaria e as pessoas zombariam de nós se comprássemos o uniforme antes do tempo. Minha mãe estava pálida, lia o destino nos meus olhos e examinava-me com amarga compaixão, como a um aleijado, porque só ela conhecia a desdita da nossa família.
Todos os homens da nossa estirpe eram confiantes com as pessoas e prontos a acções irreflectidas. Não tínhamos sorte em nada. O meu avô, rabino em Bélaya Tserkov e expulso por heresia aos quarenta anos, viveu ruidosa e pobremente outros tantos anos, estudou línguas estrangeiras e começou a perder o juízo ao raiar dos oitenta. O tio Liev, irmão do meu pai, estudou no seminário de Volozhin, fugiu em 1892 ao serviço militar e raptou a filha de um intendente da região de Kiev. O meu tio Liev levou a mulher para a América, para Los Angeles, Califórnia, abandonou-a ali e morreu numa casa de vícios entre negros e malaios. Depois da morte dele, a polícia de Los Angeles enviou-nos a herança: um grande baú guarnecido com aros castanhos. O baú continha aparelhos de ginástica, mechas de cabelo de mulher, o taled do meu avô, chicotes com punho dourado e chá em estojos adornados com pérolas falsas. De toda a família só restavam Simão, meu tio louco que vivia em Odessa, o meu pai e eu. Mas o meu pai confiava nas pessoas, ofendia-as com a exaltação do primeiro amor e as pessoas não lhe perdoavam e enganavam-no. Por isso o meu pai acreditava que a sua vida era regida por um fado maligno, por um ser inexplicável que o perseguia e que não se parecia com ele em nada. Desse modo, só eu restava à minha mãe. Como todos os judeus, eu era de pouca estatura, débil, e tinha dores de cabeça de tanto estudar. Minha mãe via tudo isso e nunca se deixou cegar pelo mísero orgulho do marido nem pela sua fé inexplicável de que algum dia a nossa família seria a mais forte e rica do mundo. Ela não confiava na nossa sorte, temia comprar o uniforme antes do tempo e só permitiu que me fotografassem para um retrato grande.
A vinte de Setembro de mil novecentos e cinco penduraram no liceu a lista dos admitidos ao primeiro grau. O meu nome estava ali. Toda a família foi ver aquele papel; até Shoil, meu tio-avô, foi ao liceu. Eu estimava aquele velho fanfarrão porque vendia peixe no mercado. As suas mãos roliças, húmidas, cobertas de escamas de peixe, cheiravam a formosos mundos frios. Shoil destacava-se do comum das pessoas com as suas inverosímeis histórias sobre a insurreição polaca de 1861. Muito tempo antes, Shoil tinha sido taberneiro em Skvir e viu como os soldados de Nicolau Primeiro fuzilaram o conde Godlevski e outros insurrectos polacos. Talvez não tenha visto. Agora sei que Shoil não passava de um velho ignorante e de um mentiroso sem estilo, mas não esqueci as suas patranhas; eram bem construídas. Portanto, até o mentecapto do Shoil foi ao liceu ver a lista com o meu nome e à noite dançou na nossa pobre festa.
O meu pai, que não cabia em si de alegria, deu uma festa e convidou os seus amigos: traficantes de trigo, comissionistas em venda de quintas e os viajantes que vendiam maquinaria agrícola na nossa comarca. Aqueles viajantes vendiam máquinas a um qualquer. Os camponeses e os proprietários temiam-nos: era impossível libertarem-se deles sem lhes comprarem qualquer coisa. Entre os judeus, os viajantes eram as pessoas mais vivas e alegres. Na nossa festa entoaram canções hasiditas cuja letra só tinha três palavras, mas que se cantavam durante muito tempo e com um número interminável de inflexões divertidas. A piada dessas inflexões só é acessível àquele que celebrou a Páscoa entre os hasiditas, ou àquele que esteve nas suas ruidosas sinagogas de Volin. Além dos viajantes veio o velho Lieberman que me ensinava a Tora e o hebreu antigo. Bebeu vinho da Bessarábia para além da sua conta, os tradicionais cordões de seda assomaram por baixo do seu casaco vermelho e pronunciou em minha honra um brinde em hebreu antigo. Nesse brinde o velho felicitou os meus pais e disse que eu vencera no exame todos os meus inimigos, vencera os bochechudos meninos russos e os filhos dos nossos ricaços. Na Antiguidade, David, rei judeu, também venceu Golias, e, do mesmo modo que eu me impusera a Golias, o nosso povo venceria com a força da sua inteligência os inimigos que nos cercavam e que ansiavam pelo nosso sangue. Lieberman disse isso e começou a chorar, e enquanto chorava bebeu mais vinho e gritou: Viva!» Os convidados fizeram coro e começaram a dançar em torno dele uma velha quadrilha como nas bodas de um lugar judeu. Todos estavam alegres na nossa festa; a minha mãe bebeu vinho, embora não bebesse vodka e não compreendesse como se podia gostar daquilo; por essa razão tinha todos os russos por loucos e não concebia como as mulheres russas suportavam os maridos loucos.
Mas os nossos dias felizes vieram mais tarde. Para a mamã vieram com as manhãs em que me preparava sandes antes de eu ir para o liceu, quando percorremos as lojas para comprar os meus utensílios de Reis Magos: a arca, a pasta, a caixa das penas, os livros novos com capas de cartão e os cadernos com capas envernizadas. No mundo ninguém sente as coisas novas com a mesma força com que as sente a criança. A criança estremece perante esse cheiro como o cão ante as pegadas da lebre e sente uma loucura que depois, quando somos adultos, se chama inspiração. Esse puro sentimento infantil de proprietário de coisas novas transmitia-se a minha mãe. Estivemos um mês a habituarmo-nos à caixa das penas e à penumbra matinal quando eu me sentava a tomar o chá no canto da espaçosa mesa iluminada e colocava os livros na pasta; estivemos um mês a habituarmo-nos à nossa vida feliz e só ao acabar esse período me voltei a lembrar das pombas.
Tinha tudo preparado para elas: um rublo e meio e um pombal que o tio Shoil construiu com uma caixa. O pombal estava pintado de castanho. Tinha ninhos para doze casais de pombas, tabuinhas no telhado e um enredado especial que eu inventei para apanhar melhor as pombas alheias. Tudo estava a postos. No domingo vinte de Outubro dispus-me a ir à Ojótnitskaya, mas surgiram obstáculos imprevistos.
A história que estou a contar, a minha matrícula no primeiro grau do liceu, ocorreu no Outono de mil novecentos e cinco. Foi quando o czar Nicolau outorgou a Constituição ao povo russo: oradores com agasalhos coçados arengavam ao povo diante do edifício da Administração. De noite ouviam-se tiros pelas ruas e a minha mãe não queria que eu fosse à Ojótnitskaya. Na manhã de vinte de Outubro os rapazes da vizinhança lançaram um papagaio de papel diante do próprio Comissariado e o nosso aguadeiro deixou o trabalho e passeou enfeitado, com a cara pintalgada. Depois vimos os filhos do padeiro Kalístov tirar um cavalo de pau e fazer ginástica no meio da rua. Ninguém os interrompeu. Mais ainda: o guarda municipal Semérnikov incitava-os a saltar mais alto. Semérnikov tinha um cinto de seda de fabrico caseiro e tinha engraxado nesse dia as botas até atingirem um brilho até então desconhecido. Nada assustou tanto a mamã como o municipal vestido de maneira pouco regulamentar; por isso não me deixava sair, mas escapei-me e, atravessando pátios, cheguei à Ojótnitskaya, atrás da estação.
Na Ojótnitskaya, no seu lugar de sempre, estava lvan Nikodimich, o vendedor de pombas. Além das pombas, vendia coelhos e um pavão. O pavão com a cauda estendida e empoleirado num pau, movia de um lado para o outro a sua impávida cabeça. Tinha uma pata atada com um cordel. Logo que cheguei comprei ao velho um casal de pombas avermelhadas de caudas exuberantes e despenteadas e um outro casal de pombas chamadas de macaco. Meti-as numa saca que trazia no peito, e da compra sobravam-me quarenta copeques, mas o velho não me cedia por esse dinheiro um par kriukovo». Eu gostava das kriukovo» por causa dos bicos curtos, granulosos, benevolentes. Quarenta copeques era o preço justo, mas o caçador regateava e torcia a cara amarelada, abrasada por recalcadas paixões de passarinheiro. O mercado estava a finalizar, e ao ver que não apareciam outros compradores, lvan Nikodimich chamou-me. Tudo saiu como eu queria e tudo saiu torto.
Às onze e pico, ou algo mais tarde, atravessou o mercado um homem com botas de feltro. Caminhava levemente em cima das pernas inchadas e na cara de ébrio ardiam olhos entusiásticos.
- Ivan Nikodimich - disse ele ao passar ao lado do passarinheiro - , largue as ferramentas: na cidade os fidalgos de Jerusalém recebem a Constituição. Na Ribnaya, deixaram nas últimas o velho Babel.
Disse aquilo e passou levemente entre as gaiolas como o labrego que caminha descalço pelo atalho.
- Malfeito - resmungou lvan Nikodimich nas costas do caminhante - , malfeito - gritou novamente, com maior severidade; recolheu os coelhos e o pavão e deu-me as kriukovo» por quarenta copeques.
Meti-as no peito e vi como as pessoas abandonavam a Ojótnitskaya. Por último seguia o pavão no ombro de lvan Nikodimich. Ia como o Sol no húmido céu outonal, como Julho na margem rosada do rio, um Julho incandescente entre alta erva fresca. No mercado não ficava ninguém e os tiros soavam perto. Lancei-me a correr para a estação, atravessei um jardim que se enfiou nos meus olhos e irrompi numa viela deserta com um chão de terra amarela. No final da viela estava na sua cadeira de rodas o coxo Makarenko que naquela cadeira percorria a cidade vendendo tabaco. Os rapazes do nosso bairro compravam-lhe tabaco, as crianças gostavam dele e eu corri pela viela até junto dele.
- Makarenko - disse eu, com a respiração entrecortada pela corrida e acariciando o ombro do coxo - , viste Shoil?
O mutilado não respondeu. A sua cara tosca, feita de gordura vermelha, era transparente. Remexia-se na cadeira, nervoso; Katiusha, a mulher, voltou para ele o fofo traseiro enquanto classificava os objectos empilhados no chão.
- Que contaste? - perguntou o mutilado, reclinando todo o corpo como se não pudesse, de antemão, suportar a resposta.
- Catorze polainas - disse Katiusha sem se endireitar - , seis mantas e agora vou contar as coifas...
- Coifas - gritou Makarenko; a respiração cortou-se-lhe e emitiu algo que se assemelhava a um gemido. - Está visto, Katerina, que Deus me indicou a mim para responder por todos... As pessoas levam o tecido por peças. As pessoas levam o que é bom e a nós dão-nos coifas...
Assim era. Pela viela passou a correr uma mulher de formoso rosto incendiado. Levava um monte de roupas numa das mãos e na outra uma peça de pano. Com voz feliz e desesperada chamava os filhos extraviados; arrastava o vestido de seda e o casaco azul atrás do corpo veloz e não ouvia Makarenko que a seguia na sua cadeira. O mutilado ia ficando para trás, as rodas chiavam, e ele movia as alavancas com todas as forças.
- Senhora - gritou ele com voz de estertor - , de onde tirou o percal, senhora?
Mas a mulher do vestido veloz lá tinha desaparecido. Na direcção oposta apareceu na esquina um carro cambaleante. Um aldeão ia no carro, em pé.
- Para onde correm as pessoas? - perguntou o rapaz, erguendo uma rédea vermelha sobre os sendeiros que se agitavam metidos nas suas coleiras.
- Estão todos na Praça da Catedral - respondeu suplicando Makarenko - , está ali toda a gente, bom homem. Tudo o que arranjes trá-lo aqui. Compro-te tudo.
O rapaz inclinou-se para a frente e chicoteou os cavalos malhados. Os pobres sendeiros curvetearam as garupas sujas e iniciaram o trote. A viela amarela voltou a ficar amarela e deserta; então o mutilado voltou para mim os seus olhos apagados.
- Acaso Deus me indicou a mim? - disse desfalecido. - Acaso sou eu o filho do homem?...
E Makarenko estendeu-me a mão salpicada pela lepra.
- Que levas na saca? - disse, pegando naquilo que me aquecia o coração. A mão grossa do mutilado alarmou os animais e tirou a pomba avermelhada. A ave repousava na mão dele com as patas estiradas.
- Pombas - disse Makarenko, e fazendo chiar as rodas aproximou-se de mim - , pombas - repetiu batendo-me na cara.
- Bateu-me de revés com a mão que segurava a ave. O traseiro fofo de Katiusha revolveu-se nas minhas pupilas e caí ao chão com o meu sobretudo novo.
- É preciso eliminar toda a semente deles - disse então Katiusha, inclinando-se sobre as coifas - , não posso ver a semente deles nem os seus homens malcheirosos...
Disse algo mais acerca da nossa semente, mas não ouvi. Estava estendido no chão e por mim escorriam os intestinos do pássaro esmagado. Escorriam-me ao longo das faces, serpenteando, salpicando e cegando-me. A tripa suave da pomba deslizou pela minha fronte; fechei o único olho ainda aberto para não ver o mundo que se estendia diante de mim. Esse mundo era pequeno e terrível. Jazia ante os meus olhos uma pedra, uma pedra rugosa como a cara de uma velha com grandes queixos; um pouco mais além havia uma corda e um monte de penas ainda palpitantes. Fechei os olhos para o não ver e comprimi-me contra a terra que estava sob mim com a sua mudez tranquilizadora. Aquela terra pisada não se parecia com a nossa vida nem com a espera dos exames na nossa vida. Longe dali caminhava sobre ela a dor no lombo de um grande cavalo, mas o ruído dos cascos tornava-se mais débil, perdia-se, e o silêncio, o amargo silêncio que algumas vezes assombra as crianças em desgraça, apagou a linha entre o meu corpo e a terra imóvel. A terra cheirava a solo húmido, a túmulo e a flores. Ouvi o seu odor e chorei sem receio. Caminhei por uma rua estranha, cheia de caixas brancas, caminhei enfeitado com penas sangrentas, sozinho pelo meio dos passeios desertos como se não fosse domingo e chorei com tanta amargura, plenitude e felicidade como nunca mais voltei a fazê-lo. Os fios do telégrafo esbranquiçados sussurravam por cima da minha cabeça, um cachorro vadio corria diante de mim; numa viela lateral um jovem com um casaco quebrava a moldura da porta da casa de Jariton Efrussi. Quebrava-o com um maço de madeira, impelia-o com todo o peso do corpo e, suspirando, sorria para um lado e para o outro com o sorriso bonacheirão da embriaguez, do suor e da força espiritual. Toda a rua estava cheia de estrépitos, do crepitar e do canto da madeira quebrada. O homem batia com o maço apenas para ter o pretexto de se inclinar, de suar e de gritar palavras estranhas numa linguagem desconhecida, não russa. Gritava-as e cantava, com os olhos azuis a saltarem, até que desembocou na rua o cortejo que vinha da Câmara. Anciãos com barbas tingidas carregavam o retrato do czar penteado, os estandartes com santos sepulcrais agitavam-se na procissão, anciãs excitadas avançavam rapidamente. O homem do casaco viu o cortejo, apertou o maço contra o peito e correu atrás dos estandartes; eu esperei o final do cortejo e cheguei a casa. Estava vazia. As portas brancas estavam abertas e a erva junto do pombal pisada. Só Kuzmá não tinha abandonado a casa. Kuzmá, o varredor, estava no alpendre e amortalhava o falecido Shoil.
- Andas no vento como o mau farrapo - disse ele ao ver-me - , estiveste fora uma eternidade... O povo deu cabo do teu avô. Aí o tens...
Kuzmá gemeu e tirou da berguilha do meu avô uma perca. Tinham metido no meu avô duas percas: uma na berguilha outra na boca. O avô tinha morrido mas uma das percas estava viva e estremecia.
- Carregaram contra o avô e mais ninguém - disse Kuzmá atirando com as percas ao gato - , mas deu-lhes que fazer, de que maneira; um tipo formidável... Tapa-lhe os olhos com moedas, anda...
Nesse tempo, com os meus dez anos, não sabia para que precisam de moedas, os mortos.
- Kuzmá - murmurei - , salva-nos...
Aproximei-me do varredor, abracei-lhe as velhas costas derruídas, com um ombro saliente, e vi nas suas costas o avô morto. Shoil jazia em cima de serrim com o peito descido, a barba erguida, os borzeguins calçando-lhe os pés nus. As pernas separadas estavam sujas, violáceas, mortas. Kuzmá atarefava-se em torno delas. Amarrou as mandíbulas e pôs-se a pensar que mais poderia fazer com o morto. Andava como se tivesse em casa móveis novos e apaziguou-se quando penteou a barba do morto.
- Deu-lhes que fazer - disse sorridente, olhando o cadáver com carinho. - Se tivessem sido só os tártaros tinha-os arrumado, mas vieram os russos e com eles as mulheres russas. Aos russos custa-lhes perdoar. Conheço os Russos...
O varredor colocou mais serrim debaixo do morto, tirou o avental de carpinteiro e pegou-me pela mão.
- Vamos ver o teu pai - murmurou apertando-me com mais força - , o teu pai anda à tua procura desde manhã. Não vá acontecer que morra...
Kuzmá e eu fomos para casa do recebedor de impostos onde meus pais se escondiam do pogrom.
Isaak Babel
O FIM DO ASILO
Em Odessa, na época da fome, ninguém vivia melhor do que os asilados do segundo cemitério judeu. Anos atrás, o comerciante de tecidos Kofman ergueu, em memória da sua esposa Isabel, um asilo junto da cerca do cemitério. No café de Falconi, essa vizinhança foi muito festejada. Mas Kofman acertou. Depois da Revolução os velhos e velhas asilados no cemitério monopolizaram os lugares de coveiros, oficiantes e amortalhadores. Arranjaram um caixão de carvalho com um manto e com borlas de prata que alugavam às pessoas pobres.
Nessa época, em Odessa, tinham desaparecido as tábuas. O caixão de aluguer não permanecia inactivo. O falecido jazia na caixa de carvalho, em sua casa e na missa; à campa, descia envolto num lençol. Era uma esquecida lei judia.
Os eruditos assinalavam que não se devia impedir os vermes de tomarem contacto com o cadáver, coisa imunda. Terra és e em terra te converterás.»
Graças a essa ressurreição da antiga lei, os velhos asilados conseguiram um adicional ao seu racionamento que naqueles anos não se podia sonhar. À noite embebedavam-se na taverna de Zalman Krivoruchka e repartiam as sobras com os vizinhos.
A prosperidade deles não se desfez até ao dia da insurreição das colónias alemãs. Num combate, os alemães mataram Guersh Lugovoi, comandante da guarnição.
Foi enterrado com todas as honras. As tropas vieram ao cemitério com orquestras, cozinhas de campanha e metralhadoras em cima de carros. Perante a campa aberta, pronunciaram-se discursos e fizeram-se promessas.
- O camarada Guersh - esganiçava-se Lionka Broitman, comandante de divisão - , ingressou no partido bolchevique em 1911 e nele realizou missões de propaganda e de ligação. O camarada Guersh começou a submeter-se a represálias, junto com Sónia Yanovskaya, lvan Sokolov e Monoszon em 1913 na cidade de Nikolayev...
Arie-Leib, porteiro do asilo, estava com os seus companheiros na expectativa. Lionka ainda não tinha terminado as suas palavras de despedida quando os velhos começaram a ladear o caixão para voltar o morto tapado com uma bandeira. Lionka tocou furtivamente Arie-Leib com uma espora.
- Fora daqui - disse ele - , fora daqui... Guersh mereceu que a república...
Perante os olhos atónitos dos velhos, Lugovoi foi enterrado com a caixa de carvalho, as borlas e o manto negro que tinha bordados a estrela de David e o verso de um antigo requiem judeu.
- Estamos arruinados como mortos - disse Arie-Leib aos colegas, depois do enterro - estamos nas mãos do faraó...
Foi ter com o gerente do cemitério, Broidin, e pediu-lhe tábuas para um caixão novo e tecido para um manto. Broidin prometeu mas não fez nada. Não estava nos planos de Broidin enriquecer os velhos. No escritório comentou:
- Preocupa-me mais a paragem nos transportes urbanos do que estes especuladores.
Broidin prometeu mas não fez nada. Na taverna de Zalman Krivoruchka choveram sobre a cabeça dele e sobre as cabeças dos sindicalistas dos transportes urbanos as pragas talmúdicas. Os velhos amaldiçoaram o tutano dos ossos de Broidin e dos membros do sindicato, o sémen fresco nas entranhas das suas esposas e desejaram a cada um deles uma forma especial de paralisia e de úlcera.
Os ganhos desceram. Agora o rancho consistia num guisado azul com espinhas de peixe. Como segundo prato cevada sem gordura.
Um velho de Odessa come qualquer guisado, não importa com que esteja feito, mas com a condição de ter loureiro, alho e pimenta. Ali não havia nada disso.
O asilo Isabel Kofman» teve a sorte dos outros. A cólera dos velhos esfomeados crescia. Descarregaram-na sobre quem de todo em todo não a esperava: a doutora Yudif Shmaiser que veio ao asilo vacinar contra a varíola.
O comité executivo da província tinha decidido a vacina obrigatória. Yudif Shmaiser colocou os seus instrumentos em cima da mesa e acendeu a lamparina do álcool. Diante das janelas erguiam-se os muros cor de esmeralda dos matagais do cemitério. A língua azul de fogo misturou-se com os raios de Junho.
O que estava mais perto de Yudif era Meyer Beskonechni, um velho magro. Meyer observava os preparativos com ar sombrio.
- Deixe-me vaciná-lo disse Yudif levantando a lanceta e começando a libertar dos andrajos o sarmento azul do braço de Meyer.
O velho retirou a mão.
- Não tenho sítio para me vacinar.
- Não o magoarei - gritou Yudif - , neste ponto não dói nada...
- Não tenho sítio - repetiu Meyer Beskonechni.
De um canto do aposento respondeu-lhe um soluço abafado. Soluçava Doba-Leya, antes especialista em circuncisões. Meyer contraiu as faces consumidas.
- A vida é uma porcaria - murmurou - , o mundo é um lupanar e os homens são uns patifes...
As lunetas apertadas no narizinho de Yudif estremeceram, o peito saltou-lhe na bata engomada. Abriu a boca para explicar a importância da vacina, mas Arie-Leib, porteiro do asilo, travou-a.
- Menina - disse ele - , também nós, tal como a menina, fomos paridos por uma mamã. Essa mulher, a nossa mãe, pariu-nos para que vivêssemos e não para que sofrêssemos. Queria que vivêssemos bem e estava dentro da razão, como só uma mãe pode estar. O homem que se contenta com o que lhe é dado por Broidin vale menos do que o material empregado em o fazer. O objectivo da menina é vacinar contra a varíola e portanto vacina com a graça de Deus. O nosso objectivo é viver, não arrastar a vida até ao fim, e cumprimos esse objectivo.
Doba-Leya, mulher de bigodes com cara leonina, chorou ainda mais ao ouvir aquelas palavras. Chorou com voz de baixo.
- A vida é uma porcaria - repetiu Meyer Beskonechni - , e os homens são uns patifes...
O paralítico Simão-VoIf agarrou os manípulos da sua cadeira e, torcendo as mãos, rodou para a porta. O boné voltou-se na sua inchada cabeça avermelhada.
Atrás de Simão-VoIf precipitaram-se para o passeio principal, com rugidos e grandes gestos, os trinta velhos e velhas. Agitavam muletas e bramiam como burros esfomeados.
Ao vê-los, o guarda fechou o portão do cemitério. Os coveiros levantaram as pás com terra e raízes aderentes e detiveram-se, assombrados.
O alarido fez aparecer o barbudo Broidin com polainas, viseira de ciclista e casaco raquítico.
- Malandro! - gritou-lhe Simão-VoIf - , não temos onde nos vacinem... Não temos carne nas mãos...
Doba-Leya mostrou os dentes e rugiu. Avançou para Broidin na sua cadeira de paralítica. Arie-Leib, como sempre, começou com alegorias e parábolas que vinham de longe e seguiam para um objectivo que nem todos alcançavam.
Começou com a parábola do rabino Osia que entregou os seus bens aos filhos, o coração à esposa, o medo a Deus e o tributo a César, só tendo retido para si um lugar debaixo de uma oliveira onde o sol do poente aquecia mais. Do rabino Osia, Arie-Leib passou às tábuas para um caixão novo e para o racionamento.
Broidin alargou as pernas com polainas e ouviu sem levantar os olhos. O valado da sua barba descansava imóvel no peito do dólman: parecia mergulhado em pensamentos tristes e pacíficos.
- Deves perdoar-me, Arie-Leib - Broidin suspirou ao dirigir-se ao sábio do cemitério -, deves perdoar-me se afirmo que não posso deixar de ver em ti um duplo sentido e um elemento político... Não posso, pelo menos, deixar de ver nas tuas costas, Arie-Leib, os que sabem o que fazem, assim como tu sabes o que estás a fazer...
Neste ponto Broidin levantou os olhos que imediatamente se embaciaram com a água branca da ira. Os montículos trémulos das suas pupilas cravaram-se nos velhos.
- Arie-Leib, - disse Broidin com a sua possante voz - lê o telegrama da Tartária, onde avultadas quantidades de tártaros passam fome como loucos... Lê o apelo dos operários de Petrogrado que trabalham e esperam cheios de fome diante dos tornos...
- Eu não posso esperar - interrompeu Arie-Leib - , já não tenho tempo.
- Há pessoas - vociferava Broidin, sem ouvir nada - que vivem pior do que tu e há milhares de pessoas que vivem pior do que os que vivem pior do que tu... Estás a semear desgostos, Arie-Leib, e a surpresa vai-te sufocar. Se vos volto as costas sereis homens mortos. Se sigo o meu caminho e vocês o vosso, morrereis. Morrerás, Arie-Leib. Morrerás, Simão-VoIf. Morrerás, Meyer Beskonechni. Mas antes de morrer, digam-me, pois tenho interesse em sabê-lo: temos aqui o poder soviético ou não temos? Se não temos e me enganei, levem-me ao Senhor Berzon, na Deribásovskaya, esquina da Ekateríninskaya, onde trabalhei de alfaiate todos os anos da minha vida... Diz que me enganei, Arie-Leib...
O administrador do cemitério aproximou-se dos inválidos, disparou contra eles as pupilas iradas que caíram sobre aquele rebanho aturdido e lamuriento como os raios de um projector, como línguas de fogo. As polainas de Broidin rangiam, o suor perlava-lhe o rosto bexigoso; continuava a avançar contra Arie-Leib e pedia a resposta: ter-se-ia enganado ao pensar que tinha chegado o poder soviético?
Arie-Leib calava-se. Esse silêncio podia ter sido a sua perda, mas no final da álea apareceu Fiedka Stepun descalço, com uma camisa de marinheiro. Fiedka tinha sofrido uma contusão perto de Rostov e estava a convalescer numa choça ao lado do cemitério. Tinha um apito ligado a um cordão de polícia cor de laranja e um revólver sem estojo.
Fiedka estava bêbado. Os pétreos caracóis estavam colados à testa e sob os caracóis torcia-se em convulsões a sua cara de pómulos salientes. Aproximou-se da campa coberta com ramos murchos.
- Onde estavas tu, Lugovoi, - disse Fiedka ao defunto - quando eu estava a tomar Rostov?
O marinheiro rangeu os dentes, apitou no seu apito de polícia e tirou o revólver do cinto. A boca enfeitada do revólver iluminou-se.
- Acabámos com os czares - gritou Fiedka - , já não há czares... Portanto, toda a gente vai para a terra sem caixão...
O marinheiro empunhava o revólver. Tinha o peito nu e nele, tatuada, a palavra RIVA e um dragão com a cabeça voltada para o mamilo.
Os coveiros, com as pás erguidas apinharam-se em torno de Fiedka. As mulheres que amortalhavam os mortos saíram das barracas e dispuseram-se a colaborar no alarido com Doba-Leya. Ondas rugidoras batiam contra o portão fechado do cemitério. Os familiares, que tinham transportado os seus mortos em carreta, reclamavam a entrada. Os mendigos batiam com as muletas na grade.
- Acabámos com os czares! - gritou o marinheiro disparando para o ar.
As pessoas lançaram-se através da álea, dando saltos enormes. Broidin empalideceu pouco a pouco. Levantou a mão, aceitou todos os pedidos do asilo, deu meia volta militar e entrou no escritório. O portão abriu-se imediatamente. Os familiares dos mortos empurravam as carretas com destreza através dos caminhos. Cantores fingidos entoaram com falsete estridente o molei rahim nas campas abertas. À noite festejaram a vitória na taverna de Krivoruchka. Deram a Fiedka três quartilhos de vinho bessarabo.
- Vaidade das vaidades! - disse Arie-Leib chocando o copo contra o do marinheiro - , és de coração suave, contigo pode-se viver... E tudo é vaidade...
A dona da casa, a esposa de Krivoruchka, lavava os copos no compartimento contíguo.
- Quando um russo sai com bom carácter é uma verdadeira pechincha.
Saíram com Fiedka já passava da uma da madrugada.
- Vaidade das vaidades - repetia o marinheiro as incompreensíveis palavras em hebraico, enquanto ziguezagueava pela rua Stepovaya - , e tudo é vaidade.
No dia seguinte repartiram entre os velhos do asilo quatro pedaços de açúcar e carne para a sopa. À noite levaram-nos ao teatro da cidade, a um espectáculo dado pelo seguro social. Era a ópera Cármen». Pela primeira vez na vida os inválidos e os espantalhos sociais viram os palcos dourados do teatro de Odessa, o veludo dos seus balcões, o brilho azeitado dos seus candeeiros. Nos intervalos deram a cada um uma sande de miúdos.
Os velhos regressaram ao cemitério num camião militar. Com estampidos e estrépitos, o camião abriu caminho pelas ruas geladas. Os velhos dormiram com as barrigas cheias. Arrotavam em sonhos, tremiam de saciedade como cães fatigados.
Na manhã seguinte Arie-Leib foi o primeiro a levantar-se. Voltou-se para o oriente, para rezar, e viu na porta um aviso. Naquele papel, Broidin informava que o asilo ia fechar para obras e que todos os asilados se deviam apresentar naquele mesmo dia na secção provincial de assistência social para serem registados em categorias de trabalho.
O sol apareceu por cima das copas do verde souto cemiterial. Arie-Leib levou os dedos aos olhos. Das órbitas apagadas escorreu uma lágrima.
A resplandecente vereda de castanheiros conduzia ao depósito de cadáveres. Os castanheiros estavam floridos, as árvores sustentavam as flores brancas nas suas garras abertas. Uma mulher desconhecida, com um xale muito amarrado ao peito, andava pelo depósito. Tudo ali tinha sido refeito: as paredes tinham sido enfeitadas com ramos de pinheiro, as mesas raspadas. A mulher lavava o corpo de um rapaz, voltava-o com grande agilidade, a água formava um jorro brilhante nas costas de jaspe.
Broidin, com polainas, estava sentado nas escadas do depósito. Tinha aspecto de veraneante. Tirou o boné e limpou a testa com um lenço amarelo.
- Isso mesmo disse eu no Sindicato ao camarada Andréichik - a desconhecida tinha uma voz melodiosa - , não fazemos cara feia ao trabalho... Que tirem informações nossas em Catarinoslav... Catarinoslav conhece o nosso trabalho...
- Não se preocupe, camarada Bliuma, não se preocupe - disse pacificamente Broidin, metendo o lenço amarelo no bolso - , comigo é fácil lidar... Comigo é fácil lidar - repetiu, pousando os olhos brilhantes em Arie-Leib que tinha chegado ao pé da escada - com a condição de não me cuspirem no prato, hã!
Broidin não acabou o discurso: uma caleche puxada por um alto cavalo mouro deteve-se junto do portão. Da caleche apeou-se o chefe dos serviços urbanos com camisa de colarinho revirado. Broidin apoderou-se dele e levou-o para o cemitério.
O velho aprendiz de alfaiate mostrou ao seu chefe a história centenária de Odessa que repousava sob as coberturas de granito. Mostrou-lhe os monumentos e criptas dos exportadores de trigo, dos comissionistas e fornecedores de navios que ergueram a Marselha russa onde se achava o povo de Jadzhibei. De frente para o portão jaziam os Ashkenazi, os Hessen, os Efrussi, sovinas refinados e borguistas filosóficos, os que deram origem às fortunas e às histórias brejeiras de Odessa. Jaziam sob monumentos de mármore rosado, separados por cadeias de castanheiros e de acácias da plebe, amontoada ao pé do muro.
- Não deixavam viver em vida - Broidin bateu num monumento com a bota - , nem deixavam correr depois da morte...
Ganhou ânimo e contou ao chefe dos serviços urbanos o seu programa de reorganização dos cemitérios e o plano de campanha contra a confraria fúnebre.
- E retirem esses daí - disse o chefe, assinalando os mendigos alinhados diante do portão.
- Já se está a proceder - respondeu Broidin - , pouco a pouco está-se a proceder a tudo...
- Ala - disse Mayórov o chefe - , tens as coisas em ordem... Ala...
Endireitou o estribo da caleche e lembrou-se de Fiedka.
- Que barulho foi esse?
- É um rapaz lesionado - disse Broidin, baixando os olhos - e por vezes não se domina... Mas agora já lhe explicaram as coisas e pediu desculpa...
- Tem garra - disse Mayórov ao seu acompanhante ao partir - , briga como é devido...
O cavalo alto levava à cidade a ele e ao chefe de urbanização. Pelo caminho encontraram os velhos e as velhas expulsos do asilo. Iam coxeando, curvados ao peso das suas trouxas e caminhavam em silêncio. Soldados desenvoltos mantinham-nos em fileiras. Os carros dos paralíticos chiavam. Um silvo de asfixia, um crepitar submisso escapava-se do peito dos cantores reformados, dos palhaços de bodas, de cozinheiras de circuncisões e dos empregados retirados.
O Sol ia alto. O calor apertava aquele montão de farrapos que se arrastava pela terra. Caminhavam por uma lúgubre estrada de pedra, ao longo de cabanas de adobe, por campos pedregosos, perto de casas abertas de par em par, destruídas pelos projécteis, ladeando a colina da peste. Na Odessa desse tempo a cidade estava ligada ao cemitério por um caminho de uma tristeza indizível.
Isaak Babel
O PRIMEIRO AMOR
Aos dez anos apaixonei-me por uma mulher chamada Galina Apolónovna. Apelidava-se Rubtsova. O marido, um oficial, foi para a guerra japonesa e regressou em Outubro de mil novecentos e cinco. Trouxe muitas arcas. As arcas continham coisas chinesas: biombos, armas valiosas, trinta puds no total. Kuzmá dizia-nos que Rubtsov comprou aquelas coisas com o dinheiro ganho na Direcção de Engenharia do Exército da Manchúria. Isso diziam outros além de Kuzmá. Era difícil não bisbilhotar acerca dos Rubtsov: os Rubtsov eram felizes. A casa deles confinava com o nosso pátio, o seu terraço coberto de vidro ocupou uma parte do nosso terreno, mas o meu pai não protestou. Rubtsov, recebedor de impostos, tinha na nossa cidade fama de homem justo e mantinha amizade com os judeus. Quando o oficial, o filho do velho, veio da guerra contra o Japão, todos comprovámos que viviam felizes. Galina Apolónovna não soltava durante todo o dia a mão do marido. Não cessava de o olhar, porque tinha estado ano e meio sem o ver, mas a mim aquele olhar metia-me medo. E voltava a cara e tremia. Via neles a vida assombrosa e desconcertante de todas as pessoas da terra e dava-me vontade de me deixar cair num sono estranho para esquecer essa vida superior às ilusões. Algumas vezes Galina Apolónovna andava pela casa com as tranças soltas, com sapatos vermelhos e roupão chinês. Sob as rendas da camisa muito decotada via-se a depressão e o início de uns seios brancos, desenvolvidos, achatados para baixo e no roupão havia dragões, pássaros e árvores bordados com seda vermelha.
Mexia-se todo o dia com um sorriso confuso nos lábios húmidos, tropeçando contra as arcas ainda por desembalar, contra os instrumentos de ginástica deitados pelo chão. Das pancadas, Galina ficava com pisaduras; levantava o roupão acima do joelho e dizia ao marido:
- Beija o dói-dói...
O oficial dobrava as longas pernas embutidas em calças de dragão com esporas, com botas de calfe cingidas, fincava-se no solo sujo e, com um sorriso, ia movendo as pernas, arrastando os joelhos, e beijava o lugar dorido, ali onde a liga tinha deixado um sulco carnudo. Eu via aqueles beijos da minha janela. Faziam-me sofrer mas não vale a pena contá-lo; o amor e os ciúmes de um menino de dez anos parecem-se com qualquer amor de homem adulto. Estive duas semanas sem ir à janela, fazendo por evitar Galina, até que tropecei com ela por casualidade. A casualidade foi o pogrom judeu que no ano de mil novecentos e cinco se desencadeou em Nikolayev e em outras cidades do limite de residência dos judeus. Uma multidão de assassinos pagos saqueou a loja do meu pai e matou o meu avô Shoil. Tudo aquilo aconteceu na minha ausência. Naquela manhã eu estava a comprar pombas ao caçador Ivan Nikodimich. Passei cinco anos dos meus dez a sonhar apaixonadamente com pombas e quando as comprei o mutilado Makarenko matou-as contra a minha cara. Kuzmá levou-me para casa dos Rubtsov. A porta do Rubtsov tinha marcada uma cruz: a eles não lhes tocavam e esconderam os meus pais em casa deles. Kuzmá levou-me ao terraço envidraçado. Ali estava a minha mãe com uma capa verde e Galina.
- Temos de nos lavar - disse Galina -, temos de nos lavar, pequeno rabino... Temos a cara manchada de penas e as penas de sangue...
Abraçou-me e levou-me por um corredor com um cheiro penetrante. A minha cabeça repousava na anca de Galina; a anca movia-se e respirava. Chegámos à cozinha e Rubtsova meteu-me a cabeça debaixo da torneira. Na cozinha, de azulejos, estava um ganso a assar, um trem de cozinha flamejante estava pendurado nas paredes; ao lado de todos aqueles utensílios, no canto da cozinha, estava pendurado o czar Nicolau enfeitado com flores de papel. Galina lavou os restos da pomba pegados às minhas faces.
- Serás um belo noivo, meu rapaz - disse beijando-me nos lábios com a boca carnuda e voltando a cara.
- Olha - murmurou de súbito -, o teu paizinho tem desgostos, anda todo o dia pela rua ao acaso, diz-lhe que venha para casa...
Da janela vi a rua deserta com um céu enorme por cima e o meu pai, de cabelos ruivos, a caminhar pela calçada. Com a cabeça descoberta, os leves cabelos vermelhos levantados, com um peitilho de algodão torcido e apertado com um único botão que não correspondia com a casa. Vlasov, um operário macilento vestido com velhos andrajos de soldado, caminhava com insistência atrás do meu pai.
- Homem - dizia ele com voz rouca e afectuosa, tocando carinhosamente nas mãos do meu pai -, não queremos a liberdade para que os judeus façam o comércio à nossa custa... Tu dá a claridade da vida ao operário pelos seus trabalhos, por esta terrível imensidão... Dá-lha, amigo, ouves-me?, dá-lha...
O operário implorava algo ao meu pai e tocava-o; na cara dele os momentos de inspiração embriagada alternavam com a melancolia e a modorra.
A nossa vida deve parecer-se com a dos molokanos - balbuciava, cambaleando nas pernas quebradiças -, deve ser como a dos molokanos mas sem esse deus sectário: dele só se aproveitam os judeus, mais ninguém...
E Vlasov gritou com desespero acerca do deus sectário de que só os judeus aproveitavam. Vlasov vociferava, tropeçava e perseguia o seu deus ignoto; nesse momento uma ronda cossaca cortou-lhe o passo. Um oficial com faixas nas calças, com um cinturão prateado de gala cavalgava à cabeça do grupo; levava um boné alto. O oficial ia devagar, sem olhar para os lados. Parecia ir por um barranco onde só se pode olhar para diante.
- Capitão! - disse meu pai, quando o cossaco lhe passava ao lado -, capitão! - repetiu o meu pai encolhendo a cabeça e ajoelhando-se no chão.
- Às suas ordens - respondeu o oficial, olhando sempre em frente, e saudando com a mão enluvada em calfe cor de limão.
Mais adiante, na esquina da Rua Ribnaya, a turva saqueava a nossa loja, tirava caixas de pregos, máquinas e o meu novo retrato com uniforme do liceu.
- Veja - disse o meu pai sem se levantar - estão a destruir o que custou suor, capitão... Como pode ser?
O oficial murmurou qualquer coisa, levou ao boné a luva cor de limão e soltou a rédea, mas o cavalo não se moveu. O meu pai arrastava-se de joelhos perante o cavalo, esfregou-se contra as suas patas curtas, suaves, sem pêlo.
- Às suas ordens - disse o capitão. - Puxou a rédea e seguiu.
Atrás dele foram os cossacos. Cavalgaram impávidos nas suas altas selas, seguiram pelo barranco imaginário até se perderem na entrada da Rua Sobornaya.
Galina voltou a empurrar-me para a janela.
- Chama o papá para casa - disse. - Está sem comer desde manhã.
Assomei-me à janela e meu pai voltou-se ao ouvir a minha voz.
- Meu filhinho! - murmurou, com uma ternura inexprimível.
Dirigimo-nos juntos para o terraço de vidro onde estava minha mãe com a capa verde. Ao lado da cama dela havia halteres e um tensor.
- Malditos copequesl - disse minha mãe ao ver-nos. - Sacrificaste-lhes uma vida humana, os filhos, a nossa infeliz sorte, tudo... Malditos copeques! - gritou com voz rouca e alheia; mexeu-se na cama e calou-se.
Nesse silêncio começou-se a ouvir o meu soluçar. Eu estava com o gorro metido na cabeça, encostado à parede e não conseguia conter os soluços.
- Tem vergonha, meu amor - disse Galina, esboçando o seu sorriso depreciativo, tocando-me com o seu roupão inflexível. Com sapatos vermelhos caminhou até às janelas para pendurar as cortinas chinesas de um extravagante bastidor. As mãos dela mergulhavam na seda, uma trança viva movia-se-lhe na anca; eu observava-a arrebatado.
Eu, menino culto, olhava-a como se olha um longínquo cenário iluminado por muitos focos. Imaginei ser Míron, o filho do carvoeiro que vendia na nossa esquina. Imaginei que pertencia à milícia judia e que, como Míron, usava botas amarradas com cordas. Tenho uma espingarda inutilizável, pendurada ao ombro com um cordão verde, estou ajoelhado perante um velho fosso e disparo contra os assassinos. Atrás do fosso existe um lajedo com pilhas de carvão coberto de pó, a velha espingarda dispara mal, os assassinos de barbas e dentaduras brancas avançam; tenho a orgulhosa sensação de uma morte próxima e no alto, no azul do mundo, avisto Galina. Vejo uma seteira na parede de um gigantesco edifício, construído com milhares de azulejos. Esta casa avermelhada esmaga a ruela de terra cinzenta mal batida; na seteira superior está Galina. Sorri com o seu sorriso depreciativo da sua janela inacessível; o marido, um oficial meio vestido está nas costas dela e beija-lhe o colo...
Imaginei tudo isto enquanto tentava conter os soluços, para amar a Rubtsova com mais amargura, paixão e desespero e talvez porque a medida da aflição é demasiada para um homem de dez anos. Os sonhos descabelados ajudaram-me a esquecer a morte das pombas e do avô Shoil; talvez tivesse esquecido essas mortes, mas nesse momento apareceu no terraço Kuzmá com o horrível judeu Aba.
Escurecia quando chegaram. No terraço ardia um candeeiro mortiço com quebra-luz; um candeeiro mortiço companheiro das desgraças.
- Amortalhei o avô - disse Kuzmá ao entrar -; agora está deitado, muito bonito. Trago aqui o sacristão para dizer alguma coisa sobre o velho.
Kuzmá apontava o salmista Aba.
- Que gema alguma coisa - disse o varredor em tom amistoso -; que o sacristão encha a tripa. O sacristão passará a noite a conversar com Deus.
Kuzmá estava ali no umbral, com o seu bondoso nariz achatado, torcido em todas as direcções; tentou contar o mais sentidamente possível o modo como tinha amarrado os queixos ao morto, mas o meu pai interrompeu-o.
- Aba, faça o favor de rezar pelo morto - disse o meu pai. - Eu lhe pagarei...
- Temia que me não pagasse - respondeu Aba aborrecido, pondo em cima da mesa a cara barbuda e desgostosa -; temo que agarre na minha gratificação e fuja para Buenos Aires, para a Argentina, para abrir um negócio com a minha propina... Um armazém - disse Aba; moveu os lábios desdenhosos e puxou do jornal Filho da Pátria» que estava em cima da mesa. O jornal falava do manifesto czarista do 17 de Outubro e da liberdade...
- Cidadãos da Rússia livre - soletrava Aba enquanto mascava a barba que lhe enchia a boca -, cidadãos da Rússia livre, felicito-os em virtude da radiante ressurreição de Cristo...»
O jornal estava inclinado diante do velho salmista e tremia; ele lia de um modo sonolento, como se cantasse, e tinha inflexões surpreendentes ao pronunciar as palavras russas desconhecidas. As inflexões de Aba faziam lembrar a abafada linguagem de um negro acabado de chegar da sua pátria a um porto russo. Conseguiu fazer rir mesmo a minha mãe.
- Estou-me a rir, Aba - gritou ela, assomando por debaixo da sua capa verde. - Estou a cometer um pecado... Faria melhor se nos falasse da sua vida, da família.
- Pergunte-me acerca de outros assuntos - resmungou Aba sem soltar a barba dos dentes e prosseguindo a leitura.
- Pergunta-lhe outras coisas - repetiu o meu pai depois de Aba, colocando-se no centro do aposento. Os olhos, que nos tinham estado a sorrir entre lágrimas, giraram de súbito nas órbitas e pousaram-se num ponto a todos invisível.
- Ah, Shoil! - pronunciou o meu pai com voz simples, falsa e preparativa. - Ai, Shoil da minha alma!
Vimos que se dispunha a gritar, mas a minha mãe pôs-nos em guarda:
- Manus - gritou ela, desarranjando-se momentaneamente e começando a rasgar o peito do marido - , repara como o nosso filho está mal. Porque não lhe ouves os soluços? Porquê, Manus?
Meu pai calou-se.
- Rajil - disse atemorizado -, não te posso expressar a pena que sinto de Shoil...
Foi à cozinha e trouxe um copo de água.
- Bebe, artista - disse Aba aproximando-se. Bebe essa água que te dará alívio como o incenso ao morto...
- Assim foi: a água não me deu alívio. Soluçava ainda com mais força. Um rugido escapava-se do meu peito. Um tumor agradável ao tacto crescia-me na garganta. O tumor respirava, aumentava, obstruía a faringe e desprendia-se do peito. Borbotava nele a minha respiração destroçada. Borbotava como a água em ebulição. E quando à noite deixei de ser o menino orelhudo de toda a minha vida anterior e me converti num novelo que se retorcia, minha mãe envolveu-me num xale e, mais alta e esbelta, aproximou-se da Rubstova que estava morta de espanto.
- Querida Galina - disse minha mãe com voz sonora e forte -, somos um transtorno para si, para a carinhosa Nadezhda lvánovna e para todos os seus. Sinto-me envergonhada, querida Galina!
Com as faces vermelhas minha mãe fez recuar Galina até à saída, depois lançou-se para mim e meteu-me o xale na boca para diminuir o meu queixume.
Aguenta, filhinho - murmurou a minha mãe -, fá-lo pela mamã...
Embora tivesse podido, não teria aguentado porque tinha deixado de ter vergonha.
Foi assim que começou a minha doença. Tinha eu dez anos. Na manhã seguinte levaram-me ao médico. O pogrom prosseguia, mas não nos tocaram. O homem, um homem gordo, encontrou-me uma doença nervosa.
Receitou que fôssemos quanto antes para Odessa, de modo que me vissem ali os professores, e esperasse ali o calor e os banhos de mar.
Assim fizemos. Dias depois fui com a minha mãe para Odessa, onde vivia o avô Leivi-Itsijok e o tio Simão. Saímos de barco de manhã e ao meio-dia as pardas águas do Bug foram deslocadas pela pesada onda verde do mar. Começava para mim uma vida ao lado do demencial avô Leivi-Itsijok e despedi-me para sempre de Nikolayev, onde tinham decorrido dez anos da minha infância.
Isaak Babel
O melhor da literatura para todos os gostos e idades

















