



Biblioteca Virtual do Poeta Sem Limites




AS ESGANADAS
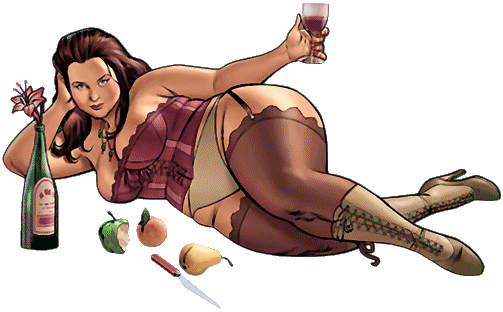
Outono de 1938
“Atenção, muita atenção, amigo ouvinte da rádio prg-3, Tupi do Rio de Janeiro! A Capital Federal, conhecida pela tranquilidade que oferece a seus habitantes, enfrenta momentos de insegurança e mistério! Três jovens de conhecidas famílias da sociedade carioca sumiram sem deixar vestígios, num intervalo de poucos dias. O caso assemelha-se às tramas de fitas de suspense do cinema americano. Nosso estimado chefe de polícia, capitão Filinto Müller, promete uma breve solução para o caso. O eminente militar declarou que a presteza das investigações nada tem a ver com o fato das desaparecidas serem filhas de figuras proeminentes do Estado, pois, segundo ele, no governo democrático do presidente Getúlio Vargas todos os brasileiros são igualmente tratados.
“Essa informação chega aos vossos ouvidos numa gentileza do Elixir Phospho-Kola de Giffoni. Para fadiga mental, nervosa e muscular, o Phospho-Kola de Gif-foni é saboroso, granulado e glicerofosfatado. O Flash Phospho-Kola volta a qualquer momento com as últimas notícias. Quem vos fala diretamente dos estúdios da rua Santo Cristo é Rodolpho d’Alencastro.”
A gorda é a última freguesa a deixar o tradicional chá da tarde na confeitaria Colombo. Segue pela Gonçalves Dias em direção à rua do Ouvidor. Sua bata branca é amarelada pela infinita quantidade de molhos e caldos nela derramada. Farelos antiquíssimos apegam-se como náufragos desesperados aos babados da blusa. A gorda é bela. Bela e voraz. À porta da confeitaria, ainda segura meia fatia de torta de morango na mão esquerda, enquanto a direita envolve um enorme éclair de chocolate. A gorda gruda-se àquelas guloseimas como se delas dependesse sua vida. Ela é gorda, bela, voraz e gulosa.
Um dilema a aflige à medida que avança pela calçada estreita demais para ela: deveria terminar primeiro a torta ou, antes, abocanhar o éclair? Seus pequeninos olhos porcinos, indecisos, olham para os acepipes presos firmemente entre seus dedos roliços. Ela é gorda, bela, voraz, gulosa e indecisa.
Finalmente, trêmula e ofegante, numa antevisão gozosa dos prazeres que as ávidas papilas da sua língua sentiriam, a gorda atocha na boca o pedaço de torta. Mastiga e engole automaticamente, num movimento simultâneo aperfeiçoado por décadas de prática. Limpa a mão na saia cinza livrando-se dos restos do creme chantilly. As listas brancas sobre a saia formam a imagem grotesca de um quadro abstrato. Ela é gorda, bela, voraz, gulosa, indecisa e lambuzona.
A gorda chega à rua Primeiro de Março, agarrando o gigantesco éclair de chocolate com as duas mãos, como se fosse um imenso falo negro. Antes que desfira a primeira dentada na cobiçada iguaria, sua bisbilhotice é atiçada por um furgão branco fosco estacionado quase na esquina da rua. O que alerta a atenção da gorda são os diversos doces e bombons expostos numa grande prateleira que sai do veículo, e o cartaz empunhado por um homem ao lado onde se lê em letras garrafais:
degustação grátis!
prove os saborosos petiscos da pâtisserie
doces finos e ajude-nos a escolher.
nenhuma experiência necessária.
Ela enfia na boca o éclair de uma só vez e se aproxima daquele Eldorado gastronômico sem saber que se avizinha da sua última tentação.
O homem é magro. Mais do que magro. Esquálido, seco, macilento. Serviria perfeitamente de modelo para uma caricatura da Morte, porém sua ligação com Tânatos superava o traço de qualquer desenhista. Herdara do pai a funerária Estige, denominação do rio que separava os mortos dos vivos na mitologia grega. Sua mãe, Odília Barroso, possuidora de um senso de humor discutível, o batizara de Caronte, como o barqueiro encarregado da travessia das almas. O pai, Olavo Eusébio, concordara. Olavo sujeitava-se a todos os caprichos da mulher.
Localizada à rua Real Grandeza, perto do cemitério São João Batista, a Estige é, sem dúvida, a mais prestigiosa da cidade. Seus carros sofisticados e caixões de luxo conferem status a simples exéquias. As salas especiais para velórios rivalizam com os suntuosos salões de baile do Rio de Janeiro.
Caronte é alto, muito alto. Vestido de negro, com cabelos longos e ralos, ele parece ainda mais emaciado. De uma palidez cadavérica, sua pele fenecida confunde-se com a dos defuntos que costuma transportar. Lavara e vestira seu primeiro cadáver aos treze anos.
Quando Caronte completou dezessete, o pai, contrariando a esposa pela única vez na vida, o enviou à Alemanha. Durante um ano, ele estudou com Friedrich Berminghaus, professor do Colégio Real de Química e diretor do Departamento de Anatomia da Universidade de Munique. Lá, aprendeu tudo sobre tanatopraxia, a moderna técnica de embalsamamento que preserva a aparência natural do corpo, minimiza as alterações fisionômicas e permite que o velório se estenda além das tradicionais vinte e quatro horas.
Berminghaus fora discípulo de August von Hofmann, descobridor do formaldeído. Esse aprendizado teve seu preço. Na ânsia de aperfeiçoar-se, Caronte se descuidava no uso do formol. Trabalhava horas a fio, obsessivamente, manipulando sem a proteção necessária os frascos. Os produtos causavam-lhe feridas na pele e provocavam um prurido intermitente. Berminghaus o prevenira amiúde do perigo:
— Vorsicht, Caronte! Das ist sehr gefährlich!
— Kein Problem, Herr Doktor...
Como desde a infância Caronte tinha dentes, cabelos e unhas frágeis, e manchas pardas espalhadas pelo corpo, as quais ocultava com o uso de camisas de gola alta e mangas longas, ele não dava muita atenção às alterações causadas pela química. Depois de terminar o curso, Caronte voltou para o Rio. Trouxe com ele as mazelas que o acompanhariam para sempre: chagas no corpo, irritação nas mucosas e distúrbios no sistema nervoso. Não se importava. Para ele, a morte era um meio de vida.
A funerária Estige passara de pai para filho desde a Guerra do Paraguai. Seu bisavô enriquecera devido a um contrato feito com o governo, sem licitação, intermediado pela namorada de um funcionário ligado ao gabinete do Ministério da Guerra. Tal contrato cedia exclusividade para o funeral dos soldados não identificados mortos no conflito. O escândalo da negociata fora abafado quando a imprensa descobriu que havia um número maior de enterros do que de combatentes mortos.
Olavo Eusébio Barroso se enforcou no lustre da sala de jantar no dia em que completou cinquenta anos. Envergava a mesma sobrecasaca antiga das cerimônias fúnebres. Não deixou carta ou bilhete, mas Caronte sabia que o suicídio era o resultado de anos sofrendo passivamente o domínio autoritário da mulher.
Caronte queria se livrar da funerária e ingressar no recém-fundado Conservatório Brasileiro de Música. Antes de ser obrigado a participar dos negócios da família, seu sonho de infância era ser maestro. Aprendeu a tocar piano de ouvido numa velha pianola encostada no porão de casa e sabia de cor a obra dos grandes clássicos. Na Alemanha, assistia a todos os concertos da Münchner Philharmoniker e adorava as óperas de Wagner no Festival de Bayreuth, cidade próxima a Munique. Quando participou sua intenção à mãe, Odília olhou-o com desprezo e respondeu lacônica: “Nem pensar. Gastamos muito dinheiro na sua educação”.
Caronte odiava a mãe. Destilava por ela um ódio figadal desde a sua festa de aniversário de dez anos, quando, em vez do bolo, ela pôs na sua frente um prato com meio mamão enfeitado com as velas. O menino famélico soprou e odiou. Ao contrário dele, Odília era gorda. Muito gorda. Imensa. Parou de se pesar quando sua compleição obesa, de um metro e setenta de altura, acusou cento e quarenta quilos numa balança de armazém. Seu rosto era lindo, de uma beleza clássica. Começara a engordar depois da gravidez do único filho. Não fosse o excesso de peso, seu corpo suscitaria a inveja das antigas amigas do liceu. A mãe tinha medo de que seu filho engordasse. Um pânico desnecessário, porque Caronte herdara as características físicas do pai, magro como ele. O metabolismo acelerado do menino queimava as tortas e pastéis deglutidos às escondidas antes mesmo que ele terminasse de ingeri-los. Apesar dos apelos inúteis do pai, nada convencia Odília. Ela mantinha o filho sob dieta rigorosa. Cada prato minguado de legumes que a tirana lhe empurrava goela abaixo açulava o ódio que ele nutria pela mãe obesa. O que agravava essa tortura eram os cardápios portugueses que ela mesma planejava com esmero, usando receitas originais de sua avó natural da região do Minho. Odília costumava dizer ao prepará-los: “É o meu passatempo favorito. Melhor que fazê-los, só comê-los!”, e desfechava uma gargalhada assustadora, sacudindo seu triplo queixo em cascata.
Foi num desses dias, ao ver a mãe aprontando uma bacia de Ovos Moles d’Aveiro, que Caronte decidiu matá-la.
A morte de Odília foi considerada acidental. Na verdade, o “acidente” havia sido provocado por um empurrão do filho. O corpo fora encontrado no chão liso da cozinha como se ela tivesse escorregado e batido com a base do crânio na quina do forno, quando preparava um imenso Pudim Abade de Priscos. Antes de chamar a polícia, Caronte debruçou-se sobre o fogão e sorveu avidamente a calda caramelada do pudim mesclada ao sangue da mãe. Um espasmo sacudiu todo o seu corpo e a nódoa escura que se alargava na frente das suas calças revelava o fruto de um orgasmo incontrolável.
Um dia, Caronte vê uma gorda na rua lambendo um cone de sorvete. O rosto lindo lembra-lhe a mãe. Servindo-se da ponta da língua como um lagarto, a gorda desempenha movimentos ágeis e lascivos em torno da bola gelada. Com perícia, ela evita que as gotas escorram pelos dedos gorduchos. É quando Caronte percebe que jamais se livrará da mãe, a não ser que a mate sempre, sempre. Resolve assassiná-la novamente em cada gorda que encontrar. A partir de então, ele só vive para vê-la morrer. Começa a temporada de caça às gordas.
Caronte é agora rico e independente. Pode fazer o que quiser do seu tempo. Descobre que é dotado de ouvido absoluto, a capacidade de identificar cada uma das notas da escala cromática. Estuda música e aprende a tocar, com facilidade, todos os instrumentos de corda. O piano é o seu predileto. Para que a chacina das vítimas relembrasse de forma indelével a morte de Odília, atrairia cada uma delas com as receitas portuguesas da mãe. Pratica intensamente, em segredo, até se transformar num confeiteiro e mestre-cuca melhor que muitos profissionais do ramo. Pela primeira vez na vida, come.
Um dos carros funerários exclusivos da sua agência é de 1931 e tem uma característica original. Caronte é o único no Brasil a ter esse modelo. A inovação consiste numa larga porta dupla lateral para a entrada do caixão, a qual não se dá mais pela porta traseira. Uma prancha móvel sobre trilhos gira para fora, fazendo uma curva em direção à calçada, o que facilita a colocação do ataúde sem expor os carregadores ao trânsito. É sobre essa prancha que Caronte dispõe as iscas irresistíveis.
Seu nome é Cordélia e não Gordélia, como a chamavam as coleguinhas do primário. Fartavam-se de rir do trocadilho com a crueldade inocente típica das crianças. Cordélia Casari tem trinta e cinco anos e é gulosa desde menina. Sua avó italiana costumava dizer durante as refeições, quando ela se empapuçava de nhoque: “Não seja esganada, menina! Che pecatto, così bella e così ghiottona...”. Cordélia vem correndo com a rapidez que seus passos curtos permitem. As coxas roliças roçam uma na outra prenunciando uma assadura incômoda. Ela não liga. Não é a primeira vez que isso acontece. Depois, em casa, tratará com unguento sua pele em carne viva.
O rosto habitualmente sisudo de Caronte se abre num largo sorriso. Parece o riso morto das máscaras de Carnaval. A boca se rasga de orelha a orelha, deixando à mostra dentes perfeitos e de uma alvura excessiva, características peculiares às falsas dentições. Sua voz é sedutora e aveludada quando ele convida:
— Será que a senhorita nos daria a honra de submeter os nossos doces ao seu delicado paladar? É grátis, sirva-se à vontade...
A gorda, tomada por um fervor quase religioso, se acerca da prateleira de doces. Chega-se aos pulos, como um passarinho seduzido pela serpente. Sua indecisão se manifesta de novo:
— São tantos, meu Deus, e tão lindos!
Ela se inclina para cheirá-los, as narinas pulsando de prazer. A rua está deserta, não há por que se acanhar. Cordélia lambe o chantilly que cobre uma torteleta de morango. É nesse instante que Caronte a derruba sobre a prateleira esmigalhando os doces. Antes que ela se dê conta, ele tapa seu nariz repleto de creme com o lenço empapado em clorofórmio. Em segundos, ele cobre o corpo inerme com a mortalha que traz dobrada no banco da frente, guarda o cartaz na bolsa do carro e empurra a presa desmaiada para dentro do furgão. A carga gira nos trilhos como os bondes nos terminais. Ele senta-se ao volante e acelera a limusine mortuária, sinistro como o Caronte mitológico, singrando com sua carga pelo sombrio rio Estige.
Rio de Janeiro, verão de 31. Tobias Esteves desembarca do celebrado navio inglês Alcantara, da Royal Mail Steam Packet Company. Veio na segunda classe do luxuoso transatlântico graças aos seus contatos com o despachante da Royal Mail em Lisboa. Sendo um dos mais importantes da chamada Rota de Ouro e Prata, com uma velocidade média de dezessete nós, o Alcantara liga a Europa à América do Sul em quinze dias, transportando mais de dois mil passageiros. Entre os da primeira classe encontram-se dois membros da realeza, o príncipe de Gales e o duque de Kent, que seguem para Montevidéu, onde acontece a Exposição do Império Britânico.
Inspector da polícia portuguesa durante oito anos, Tobias Esteves é afastado do cargo quando confessa sua participação no falso suicídio do mago inglês Aleister Crowley. Crowley, um farsante de reputação internacional, vem a Lisboa para conhecer o poeta Fernando Pessoa, com quem se corresponde sobre horóscopos. Pessoa, fascinado pelo oculto, se encanta com os textos do Mestre Therion, pseudônimo do pretenso feiticeiro.
Crowley passa por momentos difíceis. Expulso da França em 1929, procurado pela polícia em Londres, o aventureiro resolve desaparecer. Escolhe Pessoa como cúmplice para esse fantástico efeito de ilusionismo.
O empulhador chega a Lisboa em setembro de 1930 e é recebido no porto pelo poeta. Aleister sai como uma figura fantasmagórica do nevoeiro que encobre o cais. Envolto numa longa capa negra, parece gigantesco diante da minguada estatura do poeta.
No Hotel de l’Europe, Crowley explica a Pessoa por que tem de forjar seu suicídio: vários governos da Europa querem eliminá-lo por considerarem suas práticas de taumaturgia extremamente poderosas. Outros querem assassiná-lo porque receiam que ele seja um espião trabalhando para os alemães como agente duplo. Precisa desaparecer sem deixar vestígios.
Apaixonado por mistérios, Pessoa entusiasma-se pela farsa rocambolesca e quer ajudar na trama, porém não sabe como levá-la a efeito. Lembra-se, então, de Tobias Esteves. A amizade de Fernando Pessoa por Tobias vem das tardes infindáveis gastas nos cafés do Rossio discutindo sobre nada ou coisa nenhuma. Há anos ele é fascinado pela inteligência linear do detective, que soluciona os casos mais intrincados usando a lógica dedutiva simples. Seu pensamento não deixa margem a divagações abstratas ou emocionais. Para ele, o “ser ou não ser” do Hamlet é coisa de maricas. Tem uma tremenda intuição. Quando desconfia de um suspeito, cria um silogismo capcioso durante o interrogatório: “Ouve lá. Nenhum ser humano é inocente. Tu és um ser humano. Logo, não és inocente; portanto, és culpado”. A tática confunde o interpelado. Se tiver praticado o crime, geralmente confessa. Tamanho é o afeto do poeta, que ele homenageia a objetividade do policial no poema “Tabacaria”, do heterônimo Álvaro de Campos: “... Ah, conheço-o; é o Esteves sem metafísica...”.
Pessoa marca um encontro, para as quatro horas da tarde do dia seguinte, com Crowley e Tobias, no café Martinho da Arcada, no Terreiro do Paço. O detective sabe, com certeza, como criar um falso suicídio.
A pontualidade não é o melhor atributo do inspector de polícia Tobias Esteves. Meia hora depois das quatro ele surge do outro lado da praça. Vem radiante no seu passo de marreco, balançando o corpanzil. Tobias é gordo. Hábil cozinheiro, sua afeição por doces e outros quitutes se manifesta na circunferência. Coleciona receitas de todas as regiões do país. Nunca deixa de criar ocasiões para oferecer a si mesmo lautas refeições. O feitio rechonchudo do detective de estatura média engana os criminosos que tentam fugir subestimando-lhe a agilidade e a forma física. Aos vinte e oito anos, Esteves é fruto típico da raça lusitana: pele morena, fartos cabelos negros encaracolados que penteia para a esquerda e cuja rebeldia ele amansa com uma camada de brilhantina. Cultiva vastos bigodes de pontas reviradas, tradição familiar, e procura vestir-se com discrição. A única concessão feita à vaidade é o uso de um alfinete de gravata de ouro em forma de ferradura herdado do pai. O “alfacinha”, como são chamados os nascidos em Lisboa, acena para Pessoa com seu guarda-chuva e se aproxima do café.
São agora três em volta da mesa no Martinho da Arcada. Fernando Pessoa convocou seu amigo, o jornalista Ferreira Gomes, para ajudar no enredo do sumiço fictício. Bebericam aguardente Águia Real, a preferida do poeta. Pessoa saúda o detective como de hábito:
— Ah! Finalmente chegaste, ó Esteves sem metafísica!
Ao que o policial retruca com outro verso do poeta:
— Como também disseste, “a metafísica é uma consequência de estar maldisposto”... mas vamos ao que interessa. Por que esta convocação extraordinária?
Pessoa apresenta o mago ao detective e explica o problema. De início, Esteves não quer participar da charada. Como policial, teme pela repercussão do caso. Depois de muito relutar, acaba sendo convencido pelo amigo e sugere a melhor opção para executar o projeto. Nas rochas perto de Cascais, onde o mar se choca com violência, existe um buraco em que as águas formam um redemoinho perigoso. Segundo os guias turísticos, “ali o oceano se precipita rugindo”. O lugar é conhecido como “Boca do Inferno”. Esteves propõe que o jornalista Ferreira Gomes entregue à polícia um bilhete suicida que teria sido achado no local. Crowley adora a ideia. Escreve o bilhete de próprio punho, como se tivesse se matado pelo amor da amante.
Certamente os conjuradores não podiam imaginar a repercussão do caso. A notícia espalhada por Ferreira Gomes sai nos jornais de Lisboa, Paris e Londres. As primeiras páginas dos diários estampam o episódio com o título em letras garrafais:
O mistério da boca do inferno
Para dar maior credibilidade ao “suicídio”, o inspector Tobias Esteves, amador praticante de mergulho livre, dotado de um fôlego espantoso, propõe-se a vasculhar a área submarina e acaba sendo encarregado das investigações. Ao ressurgir das águas qual rotundo Netuno, Esteves afirma que nada encontrou.
Crowley desaparece furtivamente pela fronteira espanhola e vai para a Alemanha. Fernando Pessoa é interrogado pela polícia e conta a verdade: tudo não passou de um embuste sugerido por Aleister Crowley, que continua vivo e gozando de boa saúde. Ferreira Gomes admite sua participação na fraude.
Diante da dimensão alcançada pelo episódio, Esteves declara seu envolvimento na tramoia. “Foi só uma grande piada”, diz ele ao chefe de polícia. O chefe não acha a menor graça. Para desgosto do poeta, o inspector Tobias Esteves é licenciado sine die.
Tobias passa a ser objeto de chacota de toda Lisboa. Ao chegar em casa, encontra bilhetes suicidas enfiados por baixo da porta: “Não posso viver sem ti!”; “Ó Esteves, já que não tenho a tua boca escaldante, vou me atirar na Boca do Inferno!”. Quando passa pelas ruas da Baixa, é a mesma coisa. “Lá vai o xuí galhofeiro!”, gritam, usando a gíria portuguesa para policial, e se escondem atrás das esquinas.
Cansado de tanto deboche, Tobias despede-se dos amigos e resolve ir tentar a vida no Brasil. Tem um tio que é dono de uma confeitaria no Rio de Janeiro. Nicolau Tocha-Tarelho é irmão solteiro de sua mãe e não tem herdeiros. Por várias vezes convidou o sobrinho para associar-se a ele. Agora, com a indenização recebida pelo seu afastamento da polícia, Esteves aceita o convite.
Seis anos depois, na primavera de 37, quando Getúlio Vargas decreta o Estado Novo fechando o Congresso, Tocha-Tarelho morre de um enfarte fulminante, deixando o negócio para o sobrinho. O espírito empreendedor de Tobias Esteves havia transformado a pequena loja de Botafogo na rede Regalo Luso, com dez filiais espalhadas pelos bairros e por todo o país. Tobias é agora um homem rico, não mais “o português da padaria”. Além da panificação, o que faz a diferença são os doces e pratos portugueses que ele passa a distribuir para os restaurantes e confeitarias da cidade. Doces esses que fazem as delícias das gordas do Rio de Janeiro.
Fim de tarde. Uma chuva miúda cai sobre a cidade. O furgão funerário segue pela rua Elpídio Boamorte. Os poucos passantes que ocupam as calçadas estranham a alta velocidade do automóvel. Afinal, é de supor que o principal ocupante daquele veículo não tenha mais pressa de chegar a algum compromisso.
Da janela do albergue São Genésio, na esquina da Francisco Bicalho, uma senhora faz o sinal da cruz ao ver o rabecão passar.
Ignorando a eventual indiscrição dos transeuntes, Caronte acelera em direção ao enorme depósito no final da rua. Trata-se de um antigo matadouro comprado depois da morte dos pais. Há um compartimento especial, construído por ele. Ali, Caronte criou seu necrotério particular, equipado com todos os instrumentos necessários. Nas prateleiras, garrafas contendo líquidos juntam-se a facas e bisturis de diversos tamanhos. A mesa de metal usada para autópsias ocupa o espaço antes utilizado para o abate e esquartejamento dos animais. O local conserva os ganchos e carretilhas onde estes eram pendurados. No chão, sulcos feitos no cimento permitiam que o sangue escoasse durante a retirada das vísceras. Uma cozinha guarnecida de utensílios modernos e um piano Pleyel de cauda inteira arrematam a visão surrealista do ambiente.
Caronte arrasta a gorda adormecida do carro até a mesa, deixando o rastro adocicado do seu vômito. O clorofórmio provocou-lhe a náusea, e ela lançou uma mescla de glacês e chocolates.
Com o guincho usado para mover os caixões, Caronte iça o peso morto até a mesa. Amarra o corpo estático da vítima com as correias de couro ali fixadas. Agora, tudo está pronto para satisfazer sua fantasia. Antes, deve acordá-la. É necessário que a obesa presencie tudo. Tira da prateleira um frasco de amônia e, destampando o vidro, aproxima-o das narinas de Cordélia.
Cordélia volta a si escutando a música que sai de um gramofone. Ela abre os olhos e não acredita no que vê: na sua frente, três mulheres gordas pendem dos ganchos do antigo matadouro. Seus rostos descarnados ainda denotam sinais de uma remota formosura. Todas estão nuas. Pelo tom esbranquiçado, parecem estar mortas há dias. A pele flácida desprende-se-lhes da carne. O processo de putrefação apenas começou, mas dos corpos emana um cheiro insuportável. As gordas lembram as carcaças dos animais abatidos. Um papel amassado em forma de flor sai de suas bocas. O grito horripilante de Cordélia morre, sem eco, nas paredes frias do local. Ela tenta se desvencilhar das correias que a prendem, mas seu esforço é inútil.
Caronte aumenta ao máximo o som da vitrola. O tema d’As quatro estações acaricia seus ouvidos. Ele pega alguma coisa numa das prateleiras e se acerca, ocultando o objeto atrás de si. Inclina-se até o ouvido de Cordélia e diz numa voz gutural, quase sussurrada:
— Gosta de música? É “Outono”; faz parte d’As quatro estações, de Vivaldi. Minha preferida. Faltava o violoncelo para completar o quarteto — acrescenta, apontando os três cadáveres. — Eu queria ser músico. Mamãe não deixou.
Caronte mostra o que trazia escondido às suas costas: um enorme funil de bico longo. Com uma das mãos, ele aperta o nariz da presa, obrigando-a a abrir a boca para respirar. Com a outra, enfia-lhe, pela boca, o bico do funil. O terror toma conta de Cordélia. Seus olhos esbugalhados quase saltam das órbitas. Caronte puxa de sob a mesa um garrafão de cinco litros contendo um líquido escuro e viscoso. Ele levanta o garrafão e exibe seu conteúdo à gorda.
— Musse à Fatia. Conhece? Quando é feita com folhas de gelatina, endurece e pode ser fatiada. Era como mamãe fazia. Aliás, a receita é dela. Eu prefiro a versão cremosa. Tenho certeza de que a senhorita vai adorar... — afirma o funesto, e derrama lentamente o conteúdo no bocal do funil. Cordélia vai engolindo avidamente para não sufocar.
Enquanto a cena se passa, Caronte declama a receita da sua mãe como se fossem versos de Camões:
— Coloque o chocolate em banho-maria
Juntamente com a manteiga a derreter
Adicione o leite quente à iguaria
E o açúcar não se esqueça de acrescer.
Dos ovos separar a clara e a gema
Batendo as claras postas em castela
A gelatina não será problema
Dissolvida e misturada na tigela...
O bardo tenebroso segue a sua litania, recitando em êxtase os ingredientes.
A gelatina endurece no estômago da gorda esganada.
O cabo da Polícia Militar Francisco Ferreira, lotado na delegacia de São Cristóvão, aproveita o sol para fumar seu cigarro de palha antes de ir para o serviço. Francisco veio de Tebas, no interior de Minas, e cumpre esse ritual diário passeando pelos jardins da Quinta da Boa Vista. Esta manhã, no entanto, uma imagem extravagante chama sua atenção. A poucos metros de onde se encontra, entre as árvores, ele avista quatro mulheres imóveis sentadas na relva. Elas formam um quadrado em torno de uma toalha quadriculada em cujo centro está pousada uma cesta de piquenique. Caso Francisco tivesse uma formação clássica, uma visão distorcida do quadro Le déjeuner sur l’herbe, de Manet, lhe viria à mente. O que torna a cena mais insólita é o fato das quatro serem muito gordas. Gordas e nuas. Completando a paisagem exótica, cada uma tem um instrumento musical diante de si. O pai de Francisco era regente da pequena banda da cidade. O cabo não demora a reconhecer os dois violinos, a viola e o violoncelo. Seu primeiro impulso é sair correndo dali — logo se lembra das histórias de fantasma que o avô contava —, porém o treino do policial fala mais alto. Ele se aproxima e observa que as cavidades oculares das mulheres estão vazias. Uma folha de papel amassada, formando um buquê, sai da boca de cada uma delas.
Só então o cabo Francisco Ferreira cambaleia até o canteiro mais próximo e vomita em golfadas violentas.
Os vários jornais espalhados sobre a mesa do delegado Mello Noronha, na Central, trazem nas manchetes a lúgubre descoberta. A rádio Tupi toca o prefixo anunciando a edição extraordinária do seu jornal. Ouve-se a voz inconfundível do famoso locutor Rodolpho d’Alencastro: “Está no ar o repórter Eucalol! prg-3, Tupi do Rio! E atenção, muita atenção! Ainda não há pistas sobre o assassino das quatro senhoritas da nossa sociedade que estavam desaparecidas e que foram finalmente encontradas na Quinta da Boa Vista em...”.
Noronha desliga o rádio, cortando a notícia no meio. Não necessita ser lembrado da absurda ocorrência. Bastam os insistentes telefonemas do chefe de polícia, Filinto Müller, cobrando resultados. Ele odeia Filinto Müller, odeia Getúlio Vargas, odeia a ditadura e, principalmente, odeia sua mulher, a bela Yolanda, quando ela o arrasta para ver todas as óperas no Theatro Municipal. Como delegado, Noronha tem direito a dois ingressos para os espetáculos da cidade. Ele prefere as revistas do teatro Recreio, às quais Yolanda se recusa a assistir. O entusiasmo da esposa só arrefeceu numa matinê no teatro Fênix, durante a apresentação de um decadente balé de “vanguarda” vindo de Paris. Burlando a vigilância da terrível censura do Estado Novo, o bailarino cubano José Martinez, num desvario criativo, arrancou a mínima tanga que lhe cobria o corpo, expondo ao público as nádegas murchas. Diante do choque mudo da plateia, Noronha perguntou à mulher: “Satisfeita, Yolanda?”. Passaram-se meses antes que ela sugerisse outro espetáculo.
Mello Noronha coça a cabeça desarrumando os parcos fios de cabelo que ele penteia cuidadosamente de manhã cedo, dispondo-os em círculo com a precisão de quem planeja um jardim japonês. Neurastênico, ele relê, pela milésima vez, as minguadas informações conseguidas até o momento: as três primeiras moças desapareceram em datas diferentes, em lugares diferentes, num espaço de poucos dias. As famílias, preocupadas, comunicaram à polícia a ausência das quatro. Como os pais pertenciam à classe alta, ligada de alguma forma ao Estado Novo de Vargas, Filinto Müller ordena que o delegado Noronha se dedique exclusivamente ao caso. Concede-lhe poderes especiais, o que é comum em regimes de exceção.
As investigações preliminares sobre o sumiço revelaram que a primeira foi vista, pela última vez, com uma amiga, na rua Sete de Setembro. A segunda separou-se da mãe na Ramalho Ortigão, dizendo que precisava passar na livraria Quaresma antes de ir para casa; e a terceira tentou entrar num táxi na rua da Carioca, mas o motorista recusou-se a abrir-lhe a porta, alegando que a velha suspensão do Ford não suportaria o seu peso. A cena é confirmada por comerciantes do local. O desaparecimento mais recente só fora notificado dois dias antes da descoberta das quatro a compor o tableau vivant morto, formando o paradoxo na Quinta da Boa Vista.
Mello Noronha afasta, irritado, a pasta com os escassos dados colhidos sobre as assassinadas. Dá uma baforada no seu indefectível charuto Panatela. As buscas nas residências também não resultaram em nada. Os jornais já batizaram os crimes de “Caso das Esganadas”. Ele arremessa os jornais no lixo. “Algum filho da puta daqui de dentro contou pros jornalistas que as gordas morreram entupidas”, pensa, no auge da ranzinzice. Nada tinha sido divulgado oficialmente à imprensa sobre as mortas, mesmo assim a informação vazara. Os pasquins anunciam na primeira página que as quatro têm, engastado na boca, um papel dobrado formando uma flor. Abrindo-se as folhas, via-se que haviam sido arrancadas de um caderno antigo e que cada uma delas continha uma frase escrita à mão, numa caligrafia primorosa:
Brisas de Figueira
Caprichos de Setúbal
Fofos de Creme
Musse à Fatia
É óbvio, são nomes de receitas; até Mello Noronha, que odeia gastronomia em geral e doces em particular, desconfia disso, porém desconfiar não esclarece o mistério. Claro que elas são gordas, mas isso não constitui motivo. “Que receitas são essas, que ninguém conhece?”, o delegado se pergunta, esmurrando a mesa.
Para acalmar-se, puxa um pequeno espelho de bolso com o escudo do Fluminense e, usando um pente, dedica-se à complicada manobra de cobrir o topo da careca com os longos fios de um dos lados da cabeça. Sua esposa, Yolanda, que, apesar de amá-lo, tem um senso de humor aguçado, apelidou esse ritual capilar de “mecha emprestada”.
Batem à porta, e Mello esconde no bolso o espelho e o pente.
— Quem é?
— Sou eu, doutor Noronha — responde, abrindo a porta, o inspetor Valdir Calixto, um mulato alto e musculoso, seu assistente pessoal.
— Entra. Alguma novidade sobre as gordas?
— Não, doutor. É que está aqui na minha sala um português que insiste em falar com o senhor. Ele garante que pode ajudar a resolver o caso — diz, baixinho, Calixto, fechando a porta.
— Por que é que você está falando baixo?
— Sei lá se o homem é doido, doutor — explica Valdir Calixto, que apesar de armado e policial é um medroso patológico.
— Quem está ficando doido com essa história sou eu. Ainda mais com o Filinto me azucrinando a paciência! — desabafa Mello Noronha, chamando-o pelo primeiro nome para demonstrar que não respeita nem teme o famigerado chefe de polícia. — Provavelmente é perda de tempo, mas manda o portuga entrar.
Uma cabeça redonda surge pela porta entreaberta. Tobias Esteves se anuncia numa voz límpida de tenor, carregada de sotaque lusitano, apesar dos anos vividos no Brasil:
— Com a vossa licencinha? Tobias Esteves a seu dispor.
O português avança acompanhado de Calixto. O contraste entre os três não poderia ser maior. Esteves, de estatura média, gordo, cabelos gomalinados, bigodes, enverga um terno preto de elegância discreta. Noronha, baixinho, resvala um metro e sessenta nos seus saltos carrapetas, mangas arregaçadas, gravata solta no colarinho aberto, a calva disfarçada pelo intrincado penteado; o paletó marrom, de tropical, bastante amassado, pende das costas da cadeira. Calixto, elegante, alto, um metro e noventa descalço, todo de branco, a não ser pelo contraste da gravata vermelha. Noronha sempre se pergunta como o assistente consegue manter imaculável aquele terno de linho 120. Ao contrário do delegado, nem no mais escaldante verão Calixto sua. Faceiro, ele continua imóvel, ao lado da porta. Mello Noronha aponta a poltrona em frente a sua mesa e diz ao recém-chegado:
— Por favor, sente-se. Como posso ajudá-lo?
— Mil perdões, senhor doutor delegado. Quem pode ajudá-lo é este vosso criado. Se me permite, deixe-me apresentar-me. Chamo-me Tobias Esteves, sou o proprietário da rede Regalo Luso, Doces e Salgados — ele se identifica, entregando um cartão ao policial.
Mello Noronha não deixa Esteves prosseguir. Levanta-se, despedindo-se:
— Meu amigo, se está aqui pra me dizer que as frases publicadas são nomes de receitas, não perca seu tempo nem o meu. Tenho mais o que fazer — ele encerra e, com a ajuda do inexsudável Calixto, empurra o visitante em direção à porta.
— Sim, senhor doutor, aprecio vossa extraordinária dedução — ironiza Esteves. — Mas receitas de quê? Receitas donde? Como são feitas? Por que fazê-las? Quem as fez? Quem as serviu?
Noronha estaca nos saltos:
— O senhor sabe quem foi?!
— Não, mas consigo saber.
— Como assim?
— Por uma feliz coincidência, antes de vir pro Brasil e tornar-se empresário de sucesso no ramo da alimentação, este vosso criado era inspector de polícia em Lisboa. Se a modéstia não impedisse-me de dizê-lo, acrescentaria que meu talento dedutivo ajudou a elucidar uma série de crimes em Portugal. Levado a uma aposentadoria... prematura, vim pro Rio e tornei-me sócio do meu tio, já falecido, numa pequena loja especializada em petiscos portugueses. Depois que morreu-me o tio, expandi os negócios. Hoje, sou dono da rede e conheço tudo da nossa cozinha. Tudo, tudo. Receitas, origens, tudo. Quando li o facto nos diários, ocorreu-me imediatamente: “Ó pá, são coisas lá da terra! Por que tu não ofereces ajuda? Sentes falta dos mistérios e conheces esses doces”. Foi por isso que cá vim.
— Mas como é que eu vou saber se o senhor foi mesmo detetive? — pergunta Noronha, mastigando a ponta do charuto.
— Porque, como bom detective, detecto e, quando detecto, deduzo.
— Não estou entendendo — irrita-se o delegado, sempre ranzinza.
— Se o senhor doutor não se amofina, demonstro rápido — começa a explicar o português, indo de um lado ao outro da sala. — O senhor é casado há muitos anos e não tem filhos; vossa esposa é bonita e jovem, não gosta de ficar em casa e pinta-se muito. Como marido, faz-lhe todas as vontades. Além disso, ouso afirmar que o senhor usa cuecas tamanho 36.
O espanto de Noronha só é superado pela estupefação de Calixto. Muitas vezes, por falta de tempo, é ele quem compra as camisas e cuecas do seu superior n’O Camizeiro, na rua da Assembleia. Mello Noronha recupera-se do susto.
— Me explique como é que o senhor sabe disso. Por acaso, tenho ficha na Secreta? — indaga, referindo-se à temida polícia criada por Vargas.
— Nada disso, senhor doutor delegado. É a chamada dedução simples. Vejo que é casado há bastante tempo, porque vossa aliança já perdeu o brilho e afunda-se levemente no dedo, sinal de que engordou um bocadinho desde o casamento. Vossa esposa abusa da maquilagem, a julgar pelas leves manchas de ruge na lapela do seu paletó. Suponho que ela não para em casa, pelo estado enxovalhado do vosso traje.
Calixto ri à socapa, tapando a boca, ante o olhar irado de Noronha. Esteves prossegue:
— Não tem filhos; se os tivesse, haveria por aqui, emoldurada, a clássica fotografia de família. O motivo de não ter à vista o retrato da esposa é para não expô-la no ambiente perigoso de uma delegacia de polícia, porque ela é jovem e bonita. Pelo desgaste das bordas da última gaveta da escrivaninha, presumo que a abre e fecha raivosamente com frequência, o que me leva a deduzir que guarda lá uma foto da esposa, pois receia que ela o visite de surpresa e não encontre o porta-retratos sobre a secretária. Aliás, porta-retratos que ela lhe deu de presente, já que o delegado não me parece dado a esses mimos. Quanto ao tamanho das cuecas, não é difícil de perceber. Conheço bastante anatomia pra notar que o vosso manequim é 38. Só uma cueca apertada explica o vosso constante mau humor.
Disfarçando a surpresa, Noronha pigarreia, coça a barba por fazer e anuncia:
— Seu Tobias, não sei se devo aceitar a sua ajuda. Aqui, o senhor é só um civil que vende comida. Talvez eu consiga usá-lo como consultor ou auxiliar. Fico com o seu cartão e amanhã entro em contato. Calixto, acompanhe o senhor Esteves até a porta — diz ele, encerrando o assunto com um aperto de mão.
— Fico-lhe muito grato, senhor doutor delegado. Agradeço vossa imensa e infindável gentileza — despede-se Tobias Esteves, com uma ligeira reverência.
Mello Noronha volta a sentar-se, sob o olhar de Getúlio Vargas no quadro oficial onipresente nas repartições públicas do país.
Calixto retorna, rapidamente, ao gabinete, ansioso por conhecer a opinião do chefe. Antes que ele abra a boca, Noronha comanda:
— Calixto, preciso falar com o chefe de polícia de Lisboa. Quero conhecer a história desse português. Diga à telefonista que marque uma ligação internacional para amanhã, cedo. Hoje em dia, dá pra marcar com um dia só de antecedência. Não é incrível? Sabe-se lá onde é que isso vai parar.
— É verdade, mas, como diz minha mãe, depois que inventaram a máquina de costura, tudo é possível — filosofa o subalterno. — O que é que o senhor achou do homem, doutor?
— Por enquanto, só acho mesmo que ele coloca muito bem os pronomes — responde Mello Noronha, não querendo reconhecer, perante o assistente, que ficou impressionado.
Transcrição do telefonema gravado na central radiotelefônica do Palácio Central da Polícia, por ordem do excelentíssimo senhor capitão Filinto Müller, chefe de polícia do Distrito Federal. O diálogo ocorreu entre o delegado Luiz Mello Noronha, destacado para investigar o cognominado “Caso das Esganadas”, e o chefe de polícia de Lisboa, excelentíssimo senhor doutor Manoel de Freitas Portella. O colóquio foi acompanhado pelo escrivão de polícia António Castelão, filho de portugueses, para ajudar nas eventuais variações linguísticas.
RIO DE JANEIRO
SEXTA-FEIRA 22 DE ABRIL DE 1938 — 10H30
NORONHA: Doutor Portella?
PORTELLA: Tô!
NORONHA: Alô?
PORTELLA: Tô! Tô!
NORONHA: Um momento, por favor! (Castelão intervém em auxílio de Noronha)
CASTELÃO: Doutor Portella?
PORTELLA (Resmunga baixinho longe do bocal): Cabrão
de merda... (alto) já disse que estou cá!
CASTELÃO: Aqui é do Brasil, estamos ligando da Central
de Polícia do Rio de Janeiro. Bom dia.
PORTELLA: Bom dia não, boa tarde.
CASTELÃO: É que aqui ainda é de manhã. Um momento,
o doutor Noronha vai falar.
NORONHA: Doutor Portella, aqui é o delegado Mello Noronha. Está me ouvindo?
PORTELLA: Tô.
NORONHA: Ah, agora entendi! É o seguinte: nós estamos investigando uma série de crimes e tem um português chamado Tobias Esteves se oferecendo pra ajudar.
Ele diz que foi policial em Lisboa. É verdade?
PORTELLA: Sim. (Silêncio prolongado)
NORONHA: Doutor Portella?
PORTELLA: Tô.
NORONHA: Ele era bom profissional?
PORTELLA: Quem?
NORONHA: O Tobias Esteves!
PORTELLA: Do melhor. Infelizmente, foi afastado. Meteu-se numa patranha por conta de um inglês trafulha.
NORONHA: Um momentinho. (Outro silêncio e Castelão traduz)
NORONHA(Volta a falar): Se entendi bem, Esteves se envolveu numa trapaça por causa de um inglês vigarista.
PORTELLA: Pois. Mas nada de grave, foi uma esparrela pra ajudar um poeta que lhe era muito querido. Um tal de Fernando Pessoa. Os dois, mais um jornalista, inventaram uma patacoada como se o inglês, um intrujão chamado Aleister Crowley, houvesse sumido na Boca do Inferno.
NORONHA: Sumido onde?! (Reclama em voz alta)
A ligação tá uma merda! (Retoma a conversa)
Não deu pra entender direito. O senhor disse que ele foi pro inferno?
PORTELLA: Não! Boca do Inferno! É um sítio perto do mar em Cascais com umas rochas muito perigosas.
Os aldrabões deixaram lá um bilhete como se o cabrão do inglês se tivesse suicidado. O local é perfeito pra esse tipo de desporto. Bem, pra não ficar a deitar fora o nosso tempo, quanto ao Esteves, acho que a punição foi exagerada. O gajo até que é porreiro, lembro-me bem dele. Como detective, fazia deduções pasmosas. Mande-lhe de mim um abraço quando lhe chegarao pé. (Desliga)
NORONHA(Para ninguém): Obrigado.
Satisfeito com o resultado do telefonema, o delegado Mello Noronha chama Tobias Esteves ao seu gabinete na tarde da mesma sexta-feira. Manda emitir para ele uma carteira de delegado auxiliar provisório, convocado especialmente para o Caso das Esganadas. A autoridade do delegado oficializa a exceção. Em outras circunstâncias, a licença jamais seria concedida.
— Você entende que esse tipo de arbitrariedade não é do meu feitio — explica Noronha, tratando Tobias com mais intimidade.
— Entendo perfeitamente, senhor doutor delegado.
— O doutor Portella elogiou muito seu trabalho.
— Bondade dele. O doutor Portella é dos poucos chefes que não foram substituídos no cargo pelo Salazar. Na política, essas trocas são comuns. Como dizia meu avô alentejano: “À merda nova, moscas novas”.
— Você está se referindo ao Estado Novo.
— Pois. Veja que ironia, senhor doutor delegado, escapei lá do Estado Novo, pra cair cá num Estado mais Novo ainda.
— É verdade.
— “Diz-me com quem andas, se não for eu, não vou.”
— Quê? — pergunta o delegado, sem entender.
— Nada, nada, senhor doutor delegado, é um ditado lá da minha terra. Muito antigo, do tempo em que Deus usava fraldas.
— O senhor é evangélico? — pergunta o curioso Calixto.
— Não, sou agnóstico.
— Agnóstico? O que é agnóstico?
— É um ateu cagão — define Mello Noronha, à sua maneira.
Desistindo de decifrar o provérbio, Noronha entrega a Tobias a pasta com as informações iniciais recolhidas pela polícia e o laudo das autópsias. Esteves põe uns pesados óculos de aro de tartaruga e absorve-se no relatório. Sua leitura é pontuada por gemidos curtos que o ajudam a se concentrar. O tique fora adquirido na infância, quando o menino Tobias estudava suas lições. O ruído, quase imperceptível, irrita Mello Noronha, da mesma forma que levava à loucura seus colegas de Lisboa.
Os documentos mostram que a primeira vítima se chamava Esmeralda Bulhões e sua família era do Rio Grande do Sul. Seu pai, Bernardino Bulhões, coronel do Exército, viera para a Capital com a revolução e era amigo do general Flores da Cunha. Esmeralda sofria de obesidade clinicamente severa, causada por uma disfunção glandular. Os médicos não sabiam ao certo qual. Tinha vinte e três anos e estudava francês. Sua mãe tinha certeza de que ela não conhecia as outras três desaparecidas. Na autópsia, dificultada pela corpulência da vítima, ficou comprovada ausência de atividade sexual pelo aspecto íntegro da membrana himenal. O conteúdo do estômago era composto de grande quantidade de açúcar, pasta de amêndoas, farinha de trigo e uma substância semelhante a ovos, misturada a uma certa quantidade de líquido de cor vinhosa, com forte odor etílico, porém não identificado. Nenhuma parcela havia sido digerida, indicando que a morte ocorrera minutos antes. As bordas internas da faringe estavam parcialmente laceradas, como se um objeto rombo e contundente tivesse sido introduzido, violentamente, pela boca até o esôfago, dilacerando também a traqueia. O óbito foi atribuído à asfixia mecânica por esganadura.
A autópsia do segundo corpo, o de Ivone Lopes Macedo, de vinte e dois anos, uma das herdeiras do laboratório Wendell & Macedo, é uma cópia exata do laudo cadavérico de Esmeralda Bulhões. A única diferença consiste no material encontrado. Acrescente-se, ao conteúdo gástrico observado na primeira vítima, casca de laranja picotada e, em vez do odor etílico, o que parecia ser um líquido cítrico, sugestivo de limão.
Os achados referentes à vítima de número três, Ruth Mangabeira, de dezenove anos, filha de um ginecologista famoso, e à quarta, Cordélia Casari, de trinta e cinco anos, neta do industrial italiano Francesco Casari, têm as mesmas características. A não ser, novamente, o que revelou o conteúdo gástrico de cada uma delas. No caso de Ruth, era sugestivo de uma mistura de farinha de batata, ovos, açúcar e fermento em pó.
No exame de Cordélia Casari, uma substância diferente chama a atenção: uma massa gelatinosa semelhante ao chocolate endureceu no interior do aparelho digestivo, lesionando a mucosa do estômago. Há sinais de edema na face externa da coxa direita dos cadáveres, recobertos por manchas esbranquiçadas e ressecadas, sugestivas de líquido seminal, como se o agressor tivesse ali friccionado o pênis.
Esteves começa a ler em voz alta:
— Ainda consta dos laudos: “Nos quatro corpos, há presença de lesões cutâneas perilabiais e em torno das narinas causadas pelo anestésico triclorometano. A pele do rosto ainda exala o odor adocicado característico do clorofórmio. Não há espessamento de pele causado por calosidades nas pontas dos dedos que sugira a prática de instrumentos de corda. Levando-se em conta a decomposição, a obesidade e a ausência dos globos oculares, o rosto das jovens é caracterizado por traços harmoniosos. O sangue das vítimas foi substituído por groselha”.
O sotaque cadenciado do lisboeta empresta à leitura a marca absurda da blasfêmia.
O delegado Mello Noronha é um homem prático. Para evitar o trânsito intenso das manhãs de segunda-feira sem despertar a curiosidade natural por assuntos da polícia, em vez do carro oficial com sirene ele usa uma ambulância do pronto-socorro. O veículo foi posto à disposição da Central. É nessa ambulância, conduzida pelo taciturno Calixto, que ele e Tobias Esteves se dirigem ao velório. Não é mera coincidência que tudo tenha ficado a cargo da funerária Estige; afinal, a empresa é a mais luxuosa da cidade. As famílias podem pagar o que há de mais sofisticado para o rito de passagem. Noronha mostra a Tobias o folheto de propaganda distribuído pela funerária.
Esteves contempla fascinado o anúncio, que exibe diversos tipos de caixões, desde os feitos de madeiras nobres aos fabricados com o pinho mais modesto. Há detalhes sobre as ferragens e os estofados. Os padrões mais caros têm alças folheadas a ouro e estofamento de cetim. A Estige possui em suas dependências dois salões para as cerimônias decorados em estilo barroco. Imagens celestiais repletas de anjinhos enfeitam o teto. Fazem parte do conjunto uma capela ecumênica, floricultura, restaurante, bonbonnière, loja de souvenirs, apoio psicológico e suporte religioso.
— É quase um convite ao suicídio — ironiza Mello Noronha. — Os enterros vão ser muito concorridos.
— Nunca se sabe, delegado — retruca Esteves. — Como se diz em Portugal: “Por mais caridades que faças e por mais rico que sejas, a quantidade de pessoas que irão ao teu funeral vai depender do tempo que estiver fazendo”.
Faz-se uma longa pausa.
O reflexivo Calixto quebra o silêncio pensando alto:
— Por mim, prefiro um velório de rico do que um casamento de pobre.
Trancado numa saleta nos fundos da rua Real Grandeza, Caronte ouve o burburinho suave produzido pelas pessoas presentes ao velório. As famílias decidiram que suas filhas seriam consagradas na mesma cerimônia. Econômico, o coronel Bulhões vê ali a possibilidade de um desconto. “Morreram juntas, sai mais barato enterrá-las juntas”, argumenta o militar, soluçando. Diante da reação ultrajada dos outros, ele corrige: “Claro, cada qual na sua cova”.
Caronte passou a noite e a madrugada aprontando os corpos agora expostos em ataúdes do modelo Imperial de Luxe na sala principal, cujo nome é Limiar do Paraíso. Sua destreza no acondicionamento final é reconhecida até pelos colegas mais invejosos. O processo inicia-se pela substituição do sangue e de outros fluidos do corpo. Nesse caso específico, da groselha. Caronte se permite um risinho soturno: “Ora, é quase igual!”. Em seguida, com uma máquina aperfeiçoada por Olavo Eusébio, ele bombeia o líquido de embalsamamento. Geralmente, o profissional usa, em média, de oito a dez litros da infusão, mas, devido à vasta massa corporal das clientes, ele adiciona seis litros a esse volume. O líquido é resultado de outra técnica secreta do pai; aglutinado aos produtos químicos, há um óleo de aroma adocicado feito de ervas e pétalas de jasmim. Cumprida a manobra inicial, ato contínuo o verdugo dedica-se à infausta empreitada de vestir as quatro gordas. “Pesos mortos...”, ele pensa, rindo do calembur. Ali, não há o guincho que o ajuda no velho matadouro. Também não quer compartilhar o momento com os seus auxiliares; a Estige tem mais de doze funcionários contratados com a nova carteira de trabalho assinada. Esse alumbramento é só dele: põe-lhes os vestidos brancos de renda, meias três-quartos da mesma cor, sapatilhas ornando os pezinhos gorduchos. Nos cabelos, uma guirlanda de flores do campo completa o ar angelical. Com seus dedos ossudos, maquia-lhes delicadamente os belos rostos. Um batom rosa sutil e uma pincelada de ruge nas faces rechonchudas. Inventou uma palavra para definir a arte: necrosmética. Ele observa, embevecido, sua obra e, trêmulo, sem se dar conta, deixa escapar um jato de esperma num orgasmo incontrolável.
Caronte lava-se e veste a velha sobrecasaca que Olavo Eusébio usava em todos os funerais. Retirou-a do corpo ainda morno do pai morto. Antes de entrar no salão, arregaça as mangas e injeta em si próprio a solução de cocaína e heroína que prepara habitualmente. Utiliza a fórmula para vencer sua timidez contumaz. Embalado pelo delírio da droga, ele abre a porta para conduzir as exéquias.
Hoje, Caronte está particularmente exaltado. Desequilibrou-se na dose. Apoia-se no umbral e começa a sinistra litania:
— Deus está aqui. Deus, que tudo viu, tudo vê e tudo verá. Os grilhões destas almas sofridas se romperão, e Deus, que tudo viu, tudo vê e tudo verá, as aguardará de braços abertos. Lá, elas não mais padecerão do pecado da gula. Lá, elas não serão mais moçoilas gordalhaças, e sim sílfides vaporosas nos jardins divinos. Nunca mais serão chamadas de “as abalofadas”, “as corpulentas”, “as obesas”, “as volumosas”, “as gordalhonas”, “as atoucinhadas”, “as sebáceas”, “as chorumentas”, e, por que não dizê-lo?, de “as esganadas”. — Caronte toma fôlego e segue: — Sem falar nos apelidos humilhantes como “rolha de poço”, “baleia” e “baiaca”.
Ele lança-lhes o olhar vitrificado pelas drogas.
— Pobres virgens ilibadas! Saibam que Deus, que tudo viu, tudo vê e tudo verá, condena esses epônimos! O Criador tem por vocês o carinho que o grande poeta Ribeiro Couto manifestou.
Nem o mal-estar generalizado o impede de continuar. De nada adiantam os esforços do delegado e de Esteves para detê-lo. Esgueira-se cambaleando entre os pesados esquifes e dirige-se a cada uma das ocupantes arrochadas nos Imperial de Luxe, proclamando:
— Esta menina gorda, gorda, gorda,
Tem um pequenino coração sentimental.
Seu rosto é redondo, redondo, redondo;
Toda ela é redonda, redonda, redonda,
E os olhinhos estão lá no fundo a brilhar...
Caronte safa-se da mão férrea do coronel Bulhões e insiste:
— É menina e moça. Terá quinze anos?
Umas velhas amigas de sua mamãe
Dizem sempre que a encontram, num êxtase longo:
“Como esta menina está gorda, bonita!”
“Como esta menina está gorda, bonita!”
E ela ri de prazer. Seu rosto redondo
Esconde os olhinhos no fundo, a brilhar.
Esteves tenta derrubá-lo com uma rasteira, Caronte salta sobre a perna estendida e emenda:
— Às vezes no quarto,
Diante do espelho,
Ao ver-se tão gorda, tão gorda, tão gorda,
Ela pensa nas velhas amigas de sua mamãe
E também num rapaz
Que a olha sorrindo,
Quando toda manhã ela vai para a escola:
“Ele gosta de mim… ele gosta de mim.
Eu sou gorda, bonita…”
E os dedos gordinhos pegando nas tranças
Têm carícias ingênuas diante do espelho...
Caronte termina a ronda macabra, recolhe um lírio pousado sobre um dos caixões e desaparece pela porta do seu gabinete.
Passado o constrangimento, os parentes, acalmados por dois funcionários da funerária, fingem se convencer de que aquela exibição patética faz parte do pacote mortuário.
“prg-3,Tupi do Rio. — Anúncio fúnebre. Deu-se, ontem, no cemitério São João Batista, a inumação das quatro desditosas moçoilas misteriosamente imoladas em nossa cidade. Nosso distinto chefe de polícia, doutor Filinto Müller, garante, contudo, que várias pistas foram encontradas e promete, para breve, a captura do desequilibrado que praticou atos tão ignóbeis”, declara Rodolpho d’Alencastro, impostando, num registro grave, sua voz multifacetada. “Esta triste notícia é uma cortesia da Matricária Dutra, a melhor para as gengivas do seu bebê. Se o nenezinho chora quando o dentinho aflora, Matricária Dutra alivia na hora.”
— Belo reclame! — diz Mello Noronha, desligando o rádio. — As famílias vão adorar...
Passa das seis horas da tarde. Noronha e Tobias Esteves conversam no gabinete do delegado. Ereto, perto da porta, o inconcusso Calixto. O inspetor tem as mãos cruzadas atrás das costas, hábito adquirido nos tempos em que era guarda-civil. Apesar do que afirmou Filinto Müller, os três sabem que ainda não existe o menor indício sobre nada.
— Ajudava mais se ele calasse a boca e parasse de me apoquentar. Aqui na Central, só se fala nisso, todo mundo dá palpite. Acaba virando bagunça — sentencia o delegado, mascando o Panatela.
— Pois. O caso está a se transformar num cafarnaum — concorda o português.
Pelo semblante enigmático de Noronha e Calixto, percebe-se que os dois não fazem ideia do que Esteves está falando.
— Numa mixórdia — ele explica.
O delegado retoma a conversa:
— Então, seu Esteves, por onde se começa?
— Pelo começo, parece-me.
Calixto e Noronha entreolham-se.
— Temos de descobrir se as raparigas tinham algo em comum. Além de ser gordas, claro. Mas, antes, vamos por partes, como diz um açougueiro amigo meu.
Esteves faz uma pausa, esperando a reação ao chiste. Ninguém ri, ele prossegue:
— Os conteúdos estomacais revelados nas autópsias realmente referem-se aos doces escritos nos bilhetes: Brisas de Figueira, Caprichos de Setúbal, Fofos de Creme e Musse à Fatia. Isso nos leva a supor que o assassino conheça a culinária portuguesa. Ipso facto, deve ser português ou filho de.
— Tão simples assim? — debica Mello Noronha.
— Meu caro delegado, sigo uma lógica simples, o princípio de Ockham.
— Quem é esse Ockham, algum detetive português?
— Longe disso, delegado, longe disso. Ockham foi um frade inglês da Idade Média, um filósofo. A sua teoria é a de que, se uma acção tiver várias explicações, a mais simples é a melhor: “Si plures interpretationes eiusdem actionis admittuntur, simplicissima est optima”. Claro, em latim fica muito mais bonito.
— O senhor fala latim? — pergunta o imutável Calixto.
— Formei-me em filosofia e psicologia pela Universidade de Coimbra.
— Tudo isso é muito bonito — interrompe Mello Noronha. — Mas como é que nos ajuda?
— Não sei. Primeiro, temos de procurar os suspeitos.
— Eu não gostei nada do papa-defuntos — sugere Calixto, rompendo a tradição de não se intrometer.
— Não desconfio de ninguém. É óbvio que ele estava alterado. Provavelmente, emborcou uns copos antes pra acalmar os nervos. Afinal, tratou de quatro enterros ao mesmo tempo e de pessoas importantes. Não era lá uma malta qualquer.
— Claro! — aquiesce Mello Noronha, admoestando Calixto. — A funerária Estige é tradicional. Acusar o homem só porque ele é meio esquisito é tão idiota quanto dizer que “o assassino é o mordomo”.
Súbito, o inspector põe-se de pé e começa a andar em círculos, olhos semicerrados, gemendo baixinho.
— Está sentindo alguma coisa? — preocupa-se Noronha, esquecendo-se do cacoete de Tobias.
O supersticioso Calixto sugere de longe:
— Vai ver que ele é espírita. Tem pai de santo em Lisboa?
Noronha fulmina Calixto com o olhar.
— Só perguntei porque eu sou filho de Xangô, doutor. Se for preciso, conheço...
— Não é nada disso, por favor, me desculpem — corta Tobias Esteves. — É o meu jeito de raciocinar melhor. Estou cá a pensar no perpetrador e se pode estimar, por exemplo, que trata-se de um músico frustrado. Deu-se o trabalho de colocar instrumentos de corda dispostos como um quarteto clássico: dois violinos, a viola e o violoncelo. Imagino, também, que o gajo possua uma camioneta grande ou qualquer veículo capaz de transportar essa carga imensa. Não deve ser um caminhão aberto, pois seria logo notado. Como elas não se conheciam, é preciso saber se alguém conhecia as quatro, se frequentavam os mesmos lugares, e, por suposto, é flagrante o ódio que o homem devota às gordas, bonitas ou não. Fica a pergunta: por que matá-las? Matou antes? Vai seguir matando? Com certeza, já sabemos que o depravado é provavelmente canhoto.
— Como assim? — espanta-se Noronha.
— Pelas manchas secas de sêmen deixadas na parte externa das coxas direitas das moçoilas. Fica mais fácil ao canhoto encostar-se à direita pra fazer as suas vergonhas.
Mello Noronha levanta-se incrédulo e consulta seu relógio. A bela Yolanda o espera em casa. Depois do jantar, ele ainda tem de suportar uma apresentação de L’après-midi d’un faune no teatro República.
— Parabéns pelas suas deduções. Só que elas não provam nada — conclui, impaciente, o delegado.
— Talvez, senhor doutor delegado, talvez... mas, segundo meu professor de lógica em Coimbra: “Vacuitas indiciorum indicium vacuitatis non est”.
— Em português, por favor?
— “Ausência de prova não é prova de ausência.”
“... em nosso país, o trabalhador, principalmente o trabalhador rural, vive abandonado, percebendo uma remuneração inferior às suas necessidades. No momento em que se providencia para que todos os trabalhadores brasileiros tenham casa barata, isentados dos impostos de transmissão, torna-se necessário, ao mesmo tempo, que, pelo trabalho, se lhes garanta a casa, a subsistência, o vestuário, a educação dos filhos...”
Depois da ovação recebida ao entrar em carro aberto no estádio São Januário, do Vasco da Gama, o presidente Getúlio Vargas lê o discurso escrito por Lourival Fontes, diretor do Departamento Nacional de Propaganda. Como em todo Primeiro de Maio, o povo lota o estádio para festejar seu ditador. Ficavam em casa ouvindo pelo rádio os doentes, inválidos, paralíticos e quem mais não conseguisse entrar.
No Mangue, zona do meretrício, a clientela é escassa. Além do feriado, é domingo, dia fraco nos randevus da cidade. As “polacas”, como são chamadas as prostitutas vindas do Leste Europeu — sejam polonesas ou não —, tiram o dia para descansar. A expressão “mulher de vida fácil” está longe de refletir a verdade.
As ruas estão desertas. Durante a semana, os passantes são abordados agressivamente naquela área; hoje, não há clientes.
Como em todos os domingos, a freguesia guarda as festas para a família.
Como em todos os domingos, Halina Tolowski volta para casa, na rua Pinto de Azevedo, depois de visitar sua amiga de infância Bogdana Malkowa.
Como em todos os domingos, ela usa saia preta longa e blusa cinza; trajes discretos para os dias de folga, e não as roupas quase obscenas que veste no resto da semana para cativar os homens.
Halina e Bogdana são de Zelazowa Wola, uma aldeia no leste da Polônia. Os cabelos ruivos, os olhos azuis e a pele muito branca, raros nos trópicos, garantem às duas boa aceitação no mercado do sexo. Vieram para o Brasil no mesmo navio que trouxe centenas de moças do Leste Europeu, fugindo da penúria que grassa na região.
Halina aguarda ansiosamente as visitas dominicais, porque Bogdana sempre prepara uma travessa de Pqczek, bolinhos de massa fritos semelhantes aos sonhos, recheados de geleias e de frutas em conserva. Ambas relembram, pelo paladar, a terra natal. Na verdade, Bogdana nem toca mais nos bolos. Há meses, a tuberculose lhe consome os pulmões, tirando-lhe o apetite e os fregueses. “Lepiej, jest wiecej”, pensa Halina, em polonês, curvando-se sobre a bandeja. “Melhor, mais fica.” Halina Tolowski daria a vida pela amiga, porém jamais conseguiu resistir aos carboidratos. Nem percebe a vida da companheira esvaindo-se na sua frente. Apesar das vicissitudes pelas quais passou, ela continua obesa, característica que a acompanha desde o berço. Chupava as tetas da mãe com a avidez das sanguessugas. Contemplando-se sua silhueta, era difícil imaginar-se diante de uma sobrevivente da miséria. Seu belo rosto de traços caucasianos contrasta com a vastidão do corpo. Halina é um desses mistérios da natureza. A fartura das suas carnes atrai um tipo especial de habitué. Homens que amam se engolfar nas cavas da volumosa polonesa. Numa irônica contradição, o maior deles é o palhaço Rodapé, anão famoso do circo Spinelli, igualmente celebrado nos picadeiros como baixo-barítono, interpretando, entre outras árias de óperas, “Nessun dorma”, de Turandot, e “Vesti la giubba”, de Pagliacci. Rodapé, conhecido pelos amantes do bel canto como o Pequeno Gigante, gosta de cobrir a polaca nua com notas de contos de réis. Adora mergulhar naquelas banhas, perder-se em suas dobras.
Halina Tolowski vem rente aos muros das casas. Pelo vão das janelas ainda se escuta a arenga do ditador numa cacofonia demagógica. Ela engole um último Pqczek e arrota de prazer. Não se dá conta do bizarro automóvel parado na esquina da rua Júlio do Carmo.
Os gemidos intermitentes da vítima abafados pela mordaça não o incomodam. Há dias que a mantém submissa num estado de semissedação, pensando na guloseima mais conveniente. Ele busca inspiração sentado ao piano Pleyel de cauda inteira no galpão da Elpídio Boamorte. Caronte toca uma das suas composições favoritas, a Polonaise, op. 53. As mãos longas de unhas vítreas do emissário da Morte dedilham o teclado com destreza insuspeita. Ele toca furiosamente, exaltado pela polonesa gorda amarrada na mesa ao lado. A Polaca é como costumam chamar a criação genial de Chopin. A interpretação seria impecável, não fossem as pausas que o concertista usa para fumar. Seu talento natural é exacerbado pelo cigarro de haxixe, embebido em líquido de embalsamar, que ele aspira sofregamente.
Aturdida pelos eflúvios do clorofórmio, a polonesa mal consegue distinguir a Heroica, composta para homenagear sua terra natal. Por uma dessas ironias inexplicáveis, Chopin nasceu em Zelazowa Wola. Como todas as pessoas de lá, Halina conhece a história. Sabe de cor a Heroica. O pequenino Rodapé, por quem ela tem um carinho especial, deu-lhe um gramofone de presente com uma série de discos do compositor, entre eles o Opus 53 em lá bemol maior.
O cheiro de vômito não incomoda Caronte. Ele teve de praticar uma lavagem estomacal na gorda semiadormecida. Não quer que a preciosa receita que em breve vai administrar se misture aos doces vulgares ingeridos anteriormente. Caronte é o purista da basse cuisine, o gourmet do post mortem. Ele está quase chegando ao final do seu concerto particular. Pena que a audiência não lhe faça justiça. Ele observa com o olhar carregado de cobiça a gorda esparramada sobre a mesa. Os seios enormes pendem para os lados, e o ventre dilatado, coberto de estrias, transforma a realidade em devaneio. Os vapores do haxixe encharcado em formol aglutinam no seu cérebro as imagens daquela gorda puta nua às da sua mãe. Ela, também gorda, também nua, também puta. Puta gorda. Gorda puta. Gorda filha da puta. Caronte já sabe o que vai preparar.
Os dedos nodosos ferem as teclas no último acorde da Polonaise.
As poltronas estofadas de couro do Plaza, na rua do Passeio, ainda mantêm a aparência do dia da inauguração, dois anos antes. Silver screen, projetores modernos, amplo fosso de orquestra e o estilo art déco do luxuoso prédio tornam o cinema um dos pontos de atração do centro da cidade.
Após a última sessão, uma equipe de faxineiros limpa os papéis de bala e outras pequenas imundícies descartadas pelos espectadores. Feito isso, entregam as chaves da sala a Juan Arrieta. Arrieta é um anarquista basco foragido que faz biscate como vigia noturno. Veio para o Rio com uma equipe de pelota basca depois que os aviões nazistas arrasaram sua cidade.
Nessa madrugada, por volta das três horas, Arrieta é despertado por um estrondo.
— Es un atentado! — grita.
Saindo do torpor do sono, Juan se dá conta de que está no pequeno quarto onde dorme, ao lado da cabine de projeção. O barulho veio do salão principal. Com quarenta anos, Juan Arrieta não tem medo de nada. Enfrentou uma guerra civil e foi casado com uma bailarina de flamenco.
Pega um flashlight dos vaga-lumes e desce as escadas até o foyer. As portas do salão de baixo estão abertas. O facho de luz da potente Eveready varre a plateia deserta. As poltronas perfiladas lembram-lhe os execrados batalhões de Franco. Arrieta avança pelo corredor entre as fileiras vazias. Fascinado pelo reflexo da lanterna na tela prateada, quase tropeça no parapeito do fosso de orquestra. A lanterna escapa-lhe das mãos, cai em cima de uma das cadeiras dos músicos e ilumina a gorda polonesa nua, escarrapachada sobre o piano.
— Carajo de mierda, me cago en la reputa madre que parió a Franco! — pragueja o basco, estupefato.
Da boca escancarada de Halina Tolowski surge uma enorme banana-da-terra. A ponta de outra banana sobressai como o topo de um iceberg em sua vagina de pelos rubros. Um colar de cascas de banana enfeita-lhe o pescoço. As órbitas, sem os olhos, se assemelham a dois pequenos lagos negros e profundos. Grampeado em seu corpo, um cartaz colorido anuncia a estreia da próxima semana no cine Plaza: a canção do adeus. Com Jean Servais e Lucienne Le Marchand, o filme francês conta a vida de Frédéric Chopin.
Quem é você que não sabe o que diz?
Meu Deus do Céu, que palpite infeliz!
Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira,
Oswaldo Cruz e Matriz
Que sempre souberam muito bem
Que a Vila...
O sucesso de Noel, interpretado por Aracy de Almeida, é quebrado pelo inconfundível Rodolpho d’Alencastro: “Amigo rádio-ouvinte da prg-3, Tupi do Rio! Interrompemos nossa programação para uma edição extraordinária! Uma mulher ‘desolhada’ e morta foi encontrada esta manhã na plateia do elegante cinema Plaza! Todavia, se desconhece sua identidade; porém, pela ausência ocular, pela conformação volumosa da falecida e pelas bananas entaladas em sua garganta e nas partes íntimas, a polícia associa a ocorrência ao intrigante Caso das Esganadas! Foi necessário o auxílio do nosso valoroso Corpo de Bombeiros para retirá-la do local. Esta mensagem é uma cortesia do sabonete Vale Quanto Pesa. Grande, bom e barato. Nas cores branco, azul e rosa, Vale Quanto Pesa deixa a cútis limpa e cheirosa. À venda em todo o Brasil.”
Noronha desliga o rádio Delco do seu Chevrolet e estaciona o carro ao lado do Instituto Médico-Legal na praça xv. Comenta a impropriedade do anúncio:
— Que reclame inadequado.
— O pior é que cortaram a Aracy no meio — muxoxa Calixto.
— Falar em cortar ao meio às portas do necrotério também não me parece lá de muito bom gosto... — diz Tobias Esteves.
Os três se dirigem à entrada do iml. Acima dos portões há uma inscrição em latim: fideliter ad lucem per ardua tamen
— “Fidelidade à verdade custe o que custar” — traduz Tobias.
Com a criação do Departamento Nacional de Segurança Pública, o instituto modernizou-se. Valoriza-se o sistema de investigação científica, a seleção dos funcionários é mais rigorosa e a importação de aparelhagem sofisticada contribui para a melhoria. O problema é que ainda falta treinamento para o total uso dos equipamentos.
Noronha torce o nariz a essas novidades. Ele acredita mais no instinto e na intuição.
— Isso tudo é pra aumentar o poder do Filinto.
O prudente Calixto não gosta quando Mello faz essas declarações. Teme pelo chefe.
— Doutor Noronha, cuidado! Alguém da polícia pode ouvir.
— E daí? Eu sou da polícia e estou me ouvindo.
Pelos seus serviços especiais de informação, Filinto Müller sabe muito bem o que Mello Noronha pensa dele e do regime, porém suporta o comportamento rebelde do subordinado porque não há na Força Policial ninguém mais competente.
Apesar da rabugice do delegado, o cadáver foi identificado pelo Arquivo Criminal do Estado. Trata-se da prostituta polonesa Halina Tolowski, de trinta e dois anos, residente à rua Pinto de Azevedo, na Zona do Mangue. Embora a prostituição não seja considerada crime, todas as “profissionais do sexo” são obrigatoriamente registradas na polícia. Assim como as atrizes.
Noronha e Esteves entram na sala de autópsias. Mesmo com as reformas, percebe-se que os ladrilhos das paredes guardam na memória a presença dos corpos nus de homens e mulheres abertos sobre as mesas de metal. Desprezando o ostensivo cartaz de proibido fumar, Noronha segue baforando a fumaça do Panatela. Calixto, que nunca se acostumou a participar dessas intervenções, usa a desculpa de sempre:
— Eu fico aqui fora vigiando.
Não há o que vigiar, mas Noronha entende a idiossincrasia do assistente. Conhece e respeita os medos e manias de Calixto. Tem, por ele, um carinho especial.
Ao ver o cadáver exposto na mesa do iml, Noronha concorda com o temeroso Calixto. Em vinte e cinco anos de polícia, nunca viu nada mais grotesco. Ninguém devia ser obrigado a passar por aquela experiência. Os maiores especialistas em filmes de terror teriam dificuldade em reproduzir a cena escabrosa que se descortina diante dele. Nem o aroma acre do charuto disfarça o cheiro inexprimível da morgue. É o cheiro da morte.
O delegado se depara com uma mulher muito gorda, aparentando uns quarenta anos, a quem retiraram os globos oculares. Sua obesidade é tamanha que o corpo sobra pelas laterais da mesa de aço inoxidável. O tampo é levemente inclinado para o escoamento dos líquidos, o que, no caso específico, se torna desnecessário. Todo o material que transborda pela clássica incisão biacrômio-esterno-pubiana é lavado com duchas manuais e recolhido por dois auxiliares de necropsia.
— Bem-vindo ao banquete! — graceja o legista-chefe, apontando para uma bacia com doze bananas-da-terra extraídas da vítima. O doutor Ignacio Varejão é conhecido por suas tiradas mórbidas.
— Esse quem é? — pergunta Varejão, agora apontando para Esteves.
— Muito prazer, Tobias Esteves — apresenta-se o inspector, estendendo a mão.
Ignacio ignora o gesto. Mello Noronha tenta amenizar o constrangimento:
— O Tobias era um excelente policial em Lisboa e se prontificou a me ajudar nesse caso.
— Não vejo como. O único português que admiro é Salazar — pontifica o médico, nomeado depois do Estado Novo. — De qualquer forma, já concluí a causa mortis. A gorda morreu por esganadura. Um final merecido pra uma esganada — completa ele, demonstrando novamente seu humor de necrotério.
Com uma pinça, Varejão retira do estômago da morta uma bola amassada de papel carcomida pelo suco gástrico e a entrega a Noronha:
— Acho que é um recado pra você.
Mello calça as luvas de borracha e abre o papel amarelado. Esteves lê alto por cima do seu ombro:
— Custei a achar um doce apropriado
— E não é prato pelo qual eu tenha amores. — Mas apresento a quem estiver interessado
As Bananas Merengadas dos Açores.
— Trata-se de uma sobremesa muito apreciada em Portugal. Tenho certeza de que o doutor há de encontrar na barriga dessa pobre rapariga uma grande quantidade de manteiga, farinha, açúcar, leite, gemas de ovos e as claras separadas. O cheiro de aguardente, sente-se daqui. A moçoila não bebia. A aguardente faz parte da receita — finaliza o detective.
Ignacio Varejão menospreza a precisão de Tobias:
— O senhor pode entender de cozinha, mas o fato de haver bebida na receita não garante que a mulher não fosse alcoólatra.
— É verdade, doutor Varejão. O que me garante que ela não bebia é o estado perfeito do fígado que eu observo daqui. Não vejo indícios de cirrose. Aliás, no seu estágio inicial, um dos sintomas é a perda de peso. Não me parece que seja o caso. E não se esqueça de anotar no seu relatório as irritações da pele na comissura dos lábios e nas cavidades nasais. Pelo leve odor que ainda sinto, trata-se, por suposto, de triclorometano ou clorofórmio; pode usar o nome que preferir, a substância é a mesma.
Fazia muito tempo que Noronha não via o presunçoso doutor Ignacio Varejão ficar sem resposta.
— Se lhe apetecer, posso lhe mandar um prato de Bananas Merengadas dos Açores. Faço-as melhor do que essas — afirma Tobias, pegando a bacia com os restos não digeridos e pondo-a nas mãos do médico.
Os dois policiais saem, deixando o legista perplexo.
Não havia, no Rio de Janeiro, quem não conhecesse o café Lamas, no largo do Machado. O logradouro passara a designar-se praça Duque de Caxias cinco anos antes, mas a nova denominação não pegara. Todos continuavam a chamar o local de largo do Machado, na certeza de que o antigo nome voltaria.
O Lamas não fecha nunca. A grade de ferro, comum aos estabelecimentos comerciais, permanece enrolada sobre o portão. Há mais de quarenta anos, acha-se emperrada por falta de uso. Tentaram abaixá-la pela última vez em 22, na primeira revolta tenentista. O exercício revelou-se inexequível.
As mesas são espalhadas sem critério algum e não se fazem reservas. O café Lamas é frequentado por artistas, intelectuais, políticos, jornalistas e desocupados. Essa amálgama forma o rico caldo cultural da cidade. Até Getúlio Vargas, na hora do chá, vem a pé do Catete trocar o chimarrão pela erva britânica.
É lá que o delegado Mello Noronha, o inspetor Valdir Calixto e o detective Tobias Esteves almoçam, no dia seguinte da visita ao necrotério. Na véspera, evidentemente, ninguém jantou. Noronha jura que jamais comerá outra banana.
Terminado o almoço, tomando o cafezinho de praxe, combinam ir ao Mangue, conversar com Bogdana Malkowa, uma amiga da morta encontrada no cine Plaza.
— Vai-me ser difícil voltar àquele cinema. É pena. Tenho belas recordações daquele sítio. Assisti lá a várias fitas do Bucha e Estica. Os acompanho desde quando era puto — afirma o português, deixando Valdir Calixto atônito.
— O senhor já foi puto? — espanta-se o desqueixelado Calixto.
— Pois não fomos todos?
— Eu não! — replica Calixto, indignado.
Noronha, rindo, se apressa a explicar:
— Puto, em Portugal, quer dizer “menino”, Valdir.
— Ah, bom... — suspira ele, ainda desconfiado. — E Bucha e Estica?
— É como nós chamamos a dupla Laurel e Hardy. Estava a mangar consigo. Sei muito bem que, cá, chamam-se O Gordo e o Magro. Vi muitos filmes da dupla: Bucha e Estica a caminho do Oeste, Bucha e Estica na prisão, O cabeçudo das trincheiras, Salta, salta, salta rico, Sim, sim, já te atendo...
— Mas vamos ao que interessa — interrompe Mello Noronha, acendendo seu Suerdieck Panatela. — Daqui vamos à zona, interrogar as colegas da vítima.
— Doutor Noronha, é melhor eu voltar pra Central. Alguém tem de ficar de plantão caso apareça alguma testemunha — sugere o atencioso Calixto, relutante.
— Nada disso. A área do Mangue é perigosa. Você vai conosco.
— Que perigo nada, doutor. A sua presença impõe respeito — bajula Valdir Calixto, querendo se esquivar mais uma vez.
— Você vai conosco. Ponto final — assevera Mello, soltando uma baforada.
O burburinho do restaurante vai se extinguindo aos poucos, como os lampiões da rua quando vão sendo apagados um a um. Calixto, Noronha e Esteves, sentados no fundo da sala, viram-se para a entrada buscando entender o motivo daquele silêncio. Uma mulher de rara beleza atravessa o café Lamas. De estatura mediana, cabelos castanhos, ela aparenta, no máximo, vinte e cinco anos. Usa um vestido Chanel branco, de crepe de seda, que lhe acentua os contornos do corpo, e calça sapatos Ferragamo de salto médio.
Eles se surpreendem quando percebem que a moça se dirige à mesa deles. Um sorriso avassalador ilumina-lhe o rosto. Sob os olhares invejosos dos outros clientes, ela senta-se ao lado de Esteves. Coloca um cigarro Liberty Ovais entre os lábios e pede numa voz suave:
— Alguém tem fogo?
A frase soa como uma carícia sensual.
Os três apalpam avidamente os bolsos. Esteves é o mais ágil. Num gesto apurado, puxa um Dunhill Unique de prata e acende o cigarro da moça.
— Muito gosto, Tobias Esteves. O curioso é que não fumo; mas trago na algibeira este isqueiro que pertenceu ao meu pai. Ele admirava as coisas inglesas. É a primeira vez que o uso. Não poderia inaugurá-lo atendendo a senhorita mais bela.
Ela fica encantada com o cavalheirismo de Tobias. Avalia o português gordote e gosta do que vê.
— Obrigada. Eu me chamo Diana de Souza, sou repórter e fotógrafa da revista O Cruzeiro. Estava à procura de vocês.
Apesar da sua ranhetice e da ojeriza que sente pela imprensa como um todo, Noronha derrete-se.
— Delegado Mello Noronha a seu dispor. Ouso afirmar que, se o seu talento for proporcional à formosura, a senhorita é a melhor jornalista do mundo — ele gorjeia, tropeçando nas palavras do galanteio exagerado.
Valdir e Tobias pasmam ante aquela exibição que beira o ridículo. O delegado está totalmente seduzido.
— Obrigada.
— E eu sou o inspetor Valdir Calixto e concordo com meu superior hierárquico — ele diz, não querendo ficar atrás.
— Obrigada de novo, mas prefiro ser chamada de repórter, assim como meu chefe.
Diana se refere ao magnata da imprensa Assis Chateaubriand, dono de vários jornais, estações de rádio e d’O Cruzeiro. Chatô, como é chamado, gosta de dizer que é repórter. A revista, impressa em cores pelo sistema de rotogravura, é um sucesso editorial.
— Eu mesma ilustro as minhas matérias — ela completa, mostrando a Leica 250 a tiracolo. A câmera, apelidada de Reporter, comporta dez metros de filme trinta e cinco milímetros.
— O que podemos fazer pela senhorita?
— Quero acompanhar de perto o Caso das Esganadas.
Um mal-estar toma conta da mesa. Noronha pergunta, meio sem jeito:
— Como é que um caso tão horroroso pode interessar a uma jovem tão bonita?
— Sou como a deusa que leva o meu nome. Só que, em vez de bichos, eu caço notícias.
— Me parece que a senhorita ficaria chocada com...
Diana corta Mello Noronha:
— Chega de conversa fiada, delegado. Cobri a Guerra Civil Espanhola. Nada que eu veja pode superar os horrores que vi.
Esteves interessa-se mais ainda pela repórter.
— Cobriu a guerra civil na Espanha?
— Até o ano passado, quando meu pai usou da amizade com Oswaldo Aranha pra pedir ao embaixador Peçanha que me arrancasse de lá.
— Como é o nome do seu pai? — quer saber Noronha, desconfiado.
— Décio de Souza Talles.
O nome é conhecido nacionalmente. A informação vem, com clareza, à mente do delegado: Décio de Souza Talles, milionário de São Paulo, cujas indústrias têm imensa relevância na economia do país. Influente na política, nunca aceitou cargos no governo. Getúlio lhe ofereceu o posto de embaixador em Paris, que ele polidamente recusou. Conheceu e ficou muito amigo, sim, de Oswaldo Aranha, quando o gaúcho veio cursar a faculdade de direito no Rio. Sua mulher, Dulce de Souza Talles, é famosa como incentivadora das artes e pelo trabalho voluntário que exerce na Cruz Vermelha.
— Eu estava em Granada quando García Lorca foi fuzilado em Fuente Grande. Fotografei La Pasionaria, em Madri, mas a censura daqui não me deixou publicar.
— Desculpe a minha brutal indiscrição, mas por que não usa seu sobrenome completo? — indaga Esteves.
— Não quero me aproveitar do prestígio dele. Tudo que consegui foi por merecimento próprio. Até o doutor Assis se surpreendeu quando meu pai lhe disse que eu era sua filha.
— Então, é claro, os dois se conhecem?
— Claro. Papai é um dos seus maiores anunciantes — Diana revela, acendendo outro Liberty Ovais. — Mas vamos ao que interessa. Posso participar do caso? O que mais vocês descobriram?
Dizendo isso, levanta, afasta-se dois passos, empunha a câmera e tira algumas fotos do grupo em rápida sucessão. O vaidoso Calixto ajeita sua gravata. Noronha, discreto, pede:
— Basta, por favor, senhorita. Não use essas fotos. Fica mal uma autoridade aparecendo nas revistas.
— Admito, com duas condições: primeiro, vamos todos nos tratar por “você”. Segundo, quero ajudar na investigação.
— Qual seria sua utilidade num caso como esse?
Diana senta-se novamente, pondo de lado a Leica.
— Posso ajudar a traçar o perfil do matador. As bananas enroscadas na boca e na vagina da última vítima, pra mim, indicam que o assassino tem problemas sexuais.
— A Diana, por suposto, tem razão. — Tobias acata o pedido e a trata pelo nome. — Não havia pensado nisso, mas Freud concordaria que duas bananas daquele tamanho, agarradas à boca e à... — ele ruboriza, olhando a moça —, enfim, lá onde estavam, são um símbolo fálico.
Noronha aquiesce com a cabeça, mesmo tendo ouvido falar muito pouco do cientista. Sabe apenas que inventou a tal da psicanálise. Para ele, cuidar de doenças da cabeça com falatório é, literalmente, conversa fiada. Calixto, por sua vez, não tem ideia de quem se trata. Não se acanha de perguntar:
— Esse moço aí é médico ou verdureiro?
— As duas coisas — brinca Tobias Esteves, só para confundir a cabeça de Valdir.
— Bem, e aonde vamos agora? — adianta-se a repórter.
Noronha responde, encabulado:
— Nosso próximo destino não é muito propício a uma moça de família como você. Nós identificamos a quinta vítima. É uma prostituta polonesa chamada Halina Tolowski que morava na Zona do Mangue.
— O que afasta a teoria de que o assassino só escolhe moçoilas virgens — deduz Esteves.
— Nós vamos à zona interrogar uma colega de trabalho dela — explica o delegado.
— Posso ser uma moça de família, mas fiz duas matérias lá sobre o tráfico de escravas brancas. Além disso, não ando sem a minha Derringer — ela declara, puxando da bolsa a pequena pistola de dois canos com cabo de madrepérola. — Presente do meu pai, preocupado com minha segurança. Não se preocupe, delegado, é claro que veio junto com porte de arma. E já estive em lugares piores. Vi Guernica destruída e, ao contrário da Deusa da Caça, garanto que não sou virgem.
Não há mais o que argumentar. Calixto ainda insiste que deveria ficar na chefatura, mas Noronha está irredutível. Esteves brinca outra vez com ele:
— Desconfio que, em vez de voltar à Central, como agora sabes que foste puto, o que tu queres é ver algum filme do Bucha e Estica.
—Chegou o Vavá Boas Maneiras! — gritam as putas das janelas, ao verem Valdir Calixto saltar do carro.
— Ah, então é por isso que você não queria vir conosco? Tinha medo dessa recepção... — zomba o delegado.
— Que é isso, doutor! As meninas só me conhecem porque, quando eu era guarda-civil, fazia a ronda nessa área. Contato puramente profissional.
— Por parte sua ou delas? — pergunta, rindo, o detective português.
Diana não resiste e abandalha a brincadeira, usando o humor grosseiro aprendido nas brigadas da Espanha:
— Você fazia a ronda com o cassetete na mão ou na bainha?
O recatado Calixto assume ares de ofendido.
— Eu garanto que nunca mantive relações físicas com nenhuma profissional do ramo.
Assim que ele termina a frase, uma puta baixinha grita do outro lado da rua:
— E aí, Vavá? Vai de carona hoje?
Noronha encerra o assunto antes que a conversa degringole.
O quarteto desembarcou na rua Afonso Cavalcanti, onde mora Bogdana Malkowa. Nas portas e janelas dos pequenos sobrados, as prostitutas anunciam suas especialidades, servindo-se dos dedos e da língua em gestos obscenos e dando gemidos lascivos.
Bogdana não faz parte desse patético mafuá do sexo. A tísica galopante consome o que resta dos seus pulmões, mantendo-a agarrada ao leito. É uma pálida imagem da rapariga exuberante que desembarcou na praça Mauá há poucos anos. Os esparsos cabelos ruivos, sem viço, se assemelham a fios de lã escarlate despregados do novelo. Os olhos baços, encavados na face, perderam a tonalidade da safira. Ela respira pela boca escancarada, resfolegando avidamente, como um imenso fole. Bogdana ouve ruído de passos e, com esforço, vira a cabeça para a porta. Os quatro intrusos percebem estar diante de uma moribunda. Noronha desculpa-se pela invasão:
— Com licença, sou o delegado Noronha e esta é minha equipe — ele diz, apresentando os outros. — Estamos investigando o assassinato da sua amiga Halina Tolowski.
As palavras da pobre mulher saem num gorgolejo agonizante:
— Pobre Haly, quis venir para Brasil tanta... acaba morre... je aussi... Ela gosta muito Pqczek... comer muito Pqczek... doce polonês...
Quando vê Calixto, vestígios de uma lembrança iluminam-lhe o rosto. Ela aponta para o policial o dedo raquítico e curvo e, empregando as forças que lhe restam, deixa escapar um grito do mais profundo do seu ser:
— Putanherro!
E a polonesa Bogdana Malkowa exala o último suspiro, um sorriso feliz fixado nos lábios.
Todos desviam o olhar para Calixto, que, num gesto carinhoso, ajoelha-se ao lado da heroica guerreira do bidê e cerra-lhe as pálpebras.
Evitando qualquer comentário sobre o incidente tragicômico, Mello Noronha conclui:
— Não temos mais nada que fazer aqui. Calixto, chame o iml pelo rádio da viatura e peça pra virem recolher o corpo. Você fica aí de plantão, velando a morta, até o rabecão chegar. Depois, me espera na Central. Nós vamos até a casa da polonesa assassinada ver se achamos alguma coisa que ajude a esclarecer essa maçada.
A rua Pinto de Azevedo, onde Halina Tolowski morava, não difere muito da Afonso Cavalcanti, local da residência de Bogdana. As mesmas casas, os mesmos sobrados, as mesmas putas. A diferença era que Halina vivia numa pensão junto com outras profissionais. Uma pensão administrada por madame Giselle, que veio para o Brasil logo depois da Grande Guerra e foi uma das prostitutas mais requisitadas da Conde Lage. Quando seus dotes físicos deixaram de incitar o desejo dos homens, transformou-se em cafetina. Passou de explorada a exploradora. Magra, muito maquiada, os cabelos pintados de cor de azeviche presos em coque, madame Giselle senta-se numa banqueta alta atrás de um balcão. Diante dela, um caderno aberto onde anota, com caligrafia de estudante, os ires e vires do seu gado. Saca o lápis enfiado no coque rápida como um samurai. Agita um enorme leque rendado, que ela abre e fecha continuamente provocando um ruído seco. Antes que Noronha se apresente, madame Giselle se adianta, num carregado sotaque francês:
— Não precisa nem dizer. Police, non?
— Exato. Delegado Mello Noronha, Tobias Esteves, comissário adjunto à Brigada Internacional Portuguesa, e Diana de Souza, da... Cruz Vermelha — afirma Noronha, completando a mentira.
— Doutor delegado, minhas meninas são todas limpas. Eu exijo um exame de saúde por semana — ela frisa. — Eu garanto: são liiiiimpas. Na minha maison nunca houve um caso de gonorreia, cancro, crista de galo, gonorreia de gancho, cogumelo de Afrodite, cabeça de...
— Não estamos aqui por causa delas — interrompe Noronha, horrorizado. — Só queremos examinar o cômodo que Halina Tolowski ocupava.
— Parfaitement, doutor delegado. É a terceira porta à esquerda. Fiquem à vontade, continua tudo como era — explica madame Giselle, aliviada. — As outras inquilinas e a faxineira têm medo de entrar lá. Vous savez, gente primitive, superstition...
Ao avançar pelo corredor, o trio é surpreendido por um choro convulsivo vindo do quarto de Halina. Noronha saca seu Colt, Diana saca sua Derringer e Esteves saca seu pente.
Os dois olham atônitos para o português.
— Foi por reflexo — desculpa-se ele, mostrando a arma de barbeiro.
O pranto intensifica-se quando abrem a porta. De relance, eles não enxergam ninguém lá. Finalmente, percebem, oculto pelo espaldar da única cadeira do lugar, esvaindo-se em lágrimas, o pequeno Rodapé.
Com um suspiro de alívio, Noronha guarda o Colt, Diana guarda a Derringer e Esteves guarda o pente.
O delegado mostra sua identidade e apresenta os dois parceiros. Rodapé enxuga as lágrimas, pula da cadeira e estende a mãozinha.
— Muito prazer, Otelo Cerejeira — anuncia-se, informando seu nome de batismo. — Claro, sou mais conhecido como “o palhaço Rodapé” ou, como preferem os esnobes amantes da ópera, “il cantante Battiscopa”.
Diana e Tobias acham graça, mas Noronha não entende. O português adianta-se:
— Tem piada, porque Battiscopa é “rodapé” em italiano. Percebe?
Diana traduz:
— Vem de “bater a vassoura” no rodapé. “Bate-vassoura”, entendeu?
— Sei, sei, hilário. Mas vamos ao que interessa. O que é que o senhor está fazendo aqui?
Otelo “Rodapé” “Battiscopa” Cerejeira veste-se com aprumo. Apesar da estatura liliputiana, ele porta seu um metro e trinta com invejável elegância. Os ternos, feitos sob medida no alfaiate Nagib, o melhor da cidade, os elevator shoes, importados de Londres, tudo empresta a Rodapé o requinte dos anões de Velázquez. O chapéu Borsalino e uma bengalinha com castão de prata completam o figurino. Enquanto anda pelo exíguo espaço, para ele de dimensões palacianas, declara, controlando a emoção:
— Senhor delegado, sou um homem bem-sucedido na minha carreira profissional. Trabalho desde pequeno. Deixe-me corrigir, desde criança. Como Rodapé ou Battiscopa, os picadeiros lotam pra me ver. Hoje, com trinta e cinco anos, estou rico. Continuo trabalhando pelo prazer da arte. Ainda ambiciono o sucesso internacional, mas confesso minha fraqueza: me apaixonei por Halina assim que a vi. Pedi diversas vezes que ela se casasse comigo, mas ela recusava. Gostava da sua liberdade e achava que o preconceito me prejudicaria. — Ele pega uma boneca de madeira sobre a cômoda. — Entrei aqui sem que madame Giselle visse pra buscar esta matrioshka. Halina costumava dizer que essa boneca russa que tem várias bonequinhas menores dentro era o símbolo da nossa relação. O pequenininho dentro da grandona — o anão revela, entre soluços.
Faz-se um momento de silêncio emocionado. Ele puxa o fino lenço com iniciais bordadas à mão que lhe enfeita o bolso e solicita, enxugando as lágrimas:
— Senhor delegado, gostaria de pagar o enterro da minha querida Halina. Meu secretário vai tratar de tudo. Eu faço questão de permanecer incógnito, não quero que a minha presença seja motivo de chacota no funeral. Depois da violência que ela sofreu nas mãos do assassino, é justo que seja enterrada com todas as pompas. Que ela tenha na morte as riquezas que não conseguiu em vida. Contratei o melhor serviço fúnebre da cidade pra cuidar de tudo. A funerária Estige.
Uma detalhada inspeção do recinto onde Halina morava não revela nada de interesse. Acima da cabeceira da cama, o clássico crucifixo ao lado de uma imagem de santa Maria Madalena, considerada a protetora das prostitutas. No velho guarda-roupa, alguns trajes, pretensamente excitantes; nas gavetas da cômoda, objetos para práticas sexuais, e, no armário do banheiro, aspirina, perfumes baratos, utensílios de maquiagem, um frasco aberto com cápsulas homeopáticas, pasta e escova de dentes; enfim, a parafernália habitual. Não há mais o que fazer ali.
Diana sai do quarto na frente do grupo. De repente um “freguês” a segura pelo braço no meio do corredor. O homem é musculoso, porta um chapéu de abas largas, usa botas e traz um lenço vermelho amarrado em volta do pescoço. Fala com um pronunciado acento do Sul.
— Bah! Nunca vi chinoca mais guapa na zona, chê! Quanto é que tu cobra?
— Eu não trabalho aqui. Me solta!
— Deixa de história, guria! Se tá na lagoa, é peixe.
Esteves aparece e dirige-se com firmeza ao gaúcho:
— Solte imediatamente a senhorita!
— Não te mete, portuga, que eu te furo — ameaça o gaúcho, puxando uma faca da bota. — Sou amigo do Bejo Vargas, te mato e não me acontece nada! — ele bazofia, referindo-se ao violento irmão de Getúlio.
Antes que Tobias reaja ou que Noronha interfira, um bólido passa por eles e atinge o arruaceiro no rosto, derrubando-o, inconsciente, no chão. O bólido é o palhaço Rodapé. Ele levanta-se, pega o chapéu e a bengalinha, arruma o paletó e despede-se beijando a mão de Diana:
— Não suporto pessoas grosseiras.
Otelo “Rodapé” “Battiscopa” Cerejeira desaparece pela porta da pensão de madame Giselle, deixando atrás de si um rastro de admiração, inveja e incredulidade.
Putsch
A palavra em caixa-alta é a manchete dos jornais do país. Refere-se ao golpe de Estado integralista, fracassado um dia antes com o assalto ao palácio Guanabara, ao qual resistiram de arma na mão Getúlio Vargas e sua filha Alzirinha.
A revolta de extrema direita pretendia a execução de Getúlio, dos ministros e das altas patentes do governo. Nada deu certo. Um dos motivos pitorescos por que a patética operação se transformou numa farsa total foi o fato dos rebeldes terem esquecido de cortar as comunicações do pbx central entre o Guanabara e o Catete. O telefonista de plantão no Catete deu o alarme. A razão da demora das forças governistas em dominar a amotinação foi prosaica. A porta que separa o Guanabara do campo do Fluminense e permite o acesso ao palácio estava fechada. Em vez de arrombá-la, as tropas do governo preferiram esperar pela chave. O episódio causou profunda irritação em Alzira Vargas.
Na realidade, tudo ocorreu porque, depois de insinuar promessas a Plínio Salgado, o criador da Ação Integralista, Getúlio colocou o partido na ilegalidade. O curioso é que ambos tinham muitas ideias em comum, e talvez por isso mesmo Plínio Salgado tenha caído no conto do vigário do Estado Novo.
Na funerária da rua Real Grandeza, Caronte perambula entre os caixões. Para sua surpresa, dias antes do “golpe” um doador anônimo pagou um enterro de alto luxo para a polaca, sua vítima mais recente. Sente um arrepio de prazer ao lembrar-se de como a penetrou pela boca e pela boceta com a banana-da-terra. Não esperava que alguém ligasse para os despojos. Imaginava que o destino daquela puta gorda seria a vala comum.
Passa um olhar distraído pelo jornal, sem se abalar com as notícias sobre o Putsch. Não tem simpatia por Getúlio nem por Plínio. Seu único interesse na política são os cortejos fúnebres dos potentados, em que o fausto monumental testemunha o amor do povo. Esplendor ressarcido, é claro, pelo bolso do contribuinte. Admira os russos, que embalsamam seus líderes. Gastam fortunas na preservação do corpo de Lênin. Ele sabe o quanto esse processo é difícil. Quando uma evisceração é malfeita e restos de matéria orgânica são deixados no interior do cadáver, este acaba explodindo em virtude da formação de gases. Caronte imagina, com um sorriso, uma solenidade no Kremlin e pedaços da múmia de Lênin atingindo o rosto de Stalin.
Tamborila, nervosamente, na tampa das urnas, sem se importar com os olhares desconfiados dos funcionários. A transpiração empapa seu colarinho branco cuidadosamente engomado. O terno escuro esconde as manchas de suor sob as axilas. Caronte sente falta da solução de heroína e cocaína que ele mesmo prepara em seu laboratório. Tem de se abster até do cigarro de haxixe embebido em formol, não pode se expor a uma investigação casual provocada pelo atentado inútil.
O que o incomoda no evento são as medidas precaucionais tomadas pelo governo, reforçando a segurança. Pelotões do Exército patrulham a cidade, destacamentos da Polícia Especial, de quepe vermelho, montados em motocicletas, percorrem as ruas dia e noite. A Guarda Civil revista automóveis e solicita documentos a indivíduos suspeitos ou não. É improvável que um veículo de funerária seja revistado; porém, nessas circunstâncias, tudo é possível.
Caronte é obrigado a refrear seu desejo de ir à caça. Pouco importa. No seu ofício, a paciência, mais que virtude, é obrigação. As longas horas gastas no preparo do morto, o pranto prolongado dos velórios, o desfile em passos majestosos da última jornada até o sepulcro, as orações fúnebres intermináveis à beira do túmulo, tudo requer a eupatia de um monge budista. Em breve, a tropa volta à caserna, a Polícia Especial reserva os quepes vermelhos para as escoltas e desfiles, e a Guarda Civil retorna às rondas de rotina. O país volta a trilhar os caminhos do Estado Novo. “Há três anos, falhou a Intentona Comunista, agora falha o Putsch fascista”, pensa ele. “Nada como um golpe depois do outro.”
Gostaria de partir para o antigo matadouro no galpão da Elpídio Boamorte, no bairro Praça da Bandeira, onde deixou o velho furgão, mas, como tem consciência de que a imprudência é sua inimiga, restringe o impulso. Caronte domina a arte da emboscada. Ele sabe onde encontrar suas presas e as escolhe quando passam inconscientes do perigo que correm.
Pensativo, ele cessa o tamborilar, e seus dedos de unhas afiladas acariciam a tampa brasonada de um caixão de luxo: “Não há pressa. Sou senhor do tempo e a caça é farta”.
Dentro de cada mulher gorda
há uma mulher magra suplicando para sair.
Fora de cada mulher gorda
há uma mulher mais gorda ainda
suplicando para entrar.
O mês de maio vai se arrastando no outono mormacento, sem que surjam novidades no Caso das Esganadas. Graças a Tobias Esteves, e sem o conhecimento do delegado Mello Noronha, Diana teve acesso às sinistras imagens das mulheres assassinadas.
Nada se comparava em aberração na crônica policial do país desde o “Crime da Mala”. Sentada à sua mesa na redação d’O Cruzeiro, ela rememora o evento. Há dez anos, em São Paulo, o italiano Giuseppe Pistone estrangulou e mutilou sua esposa grávida, Maria Féa Mercedes, uma linda jovem de vinte e um anos. Para se livrar da morta, Pistone comprou uma enorme mala de couro. Como o corpo da mulher não coubesse, ele seccionou-lhe as pernas com uma navalha, na altura do joelho. Levou o fardo medonho até o porto de Santos e despachou-o pelo navio Massilia para Bordeaux, com um destinatário fictício. O cheiro insuportável e um líquido escuro que escorria da carga ao ser içada fizeram com que a Polícia Marítima averiguasse o conteúdo. Ao romperem o fecho, encontraram, dentro da mala, os despojos de Maria. Foram achados também pedaços de papel que forravam a base do baú, uma caixinha de pó de arroz Coty, um vidro com pastilhas para garganta, uma seringa, um vidro de extrato, um travesseiro sem fronha e peças de roupa feminina. Um colete de lã e uma camiseta de tricô cobriam o torso. As pernas seccionadas portavam meias de seda presas por ligas de elástico. O que mais revoltou os investigadores foi terem encontrado, junto ao corpo da moça, um minúsculo cadáver: o feto de uma menina de seis meses. Segundo o legista, o bebê nascera dentro da mala.
Ela lera a notícia, sem que seus pais soubessem, numa publicação clandestina, ilustrada com desenhos sanguinolentos, que uma colega do colégio Sion lhe emprestara. Teve pesadelos durante meses.
Diana decide escrever sobre as esganadas. Até então, o interesse se restringe ao comentário momentâneo diante da notícia ou à curiosidade mórbida de leitores daqueles jornalecos sensacionalistas em que o sangue vaza das manchetes e se coagula nos quadrículos das palavras cruzadas. O que motivaria essa falta de indignação? Quando estudava jornalismo e fotografia em Paris, Diana fora a Viena para assistir a algumas palestras de Sigmund Freud. A psicanálise ainda era causa de escândalo e ela interessara-se pelo assunto. Sabe que esse tipo de crime tem uma motivação psicológica profunda. Ela quer que as pessoas se conscientizem de que há um assassino repulsivo à solta pelas ruas e espera que o seu artigo provoque um sentimento de solidariedade. A população precisa ficar alerta a qualquer atividade suspeita. Seus dedos ágeis martelam a Remington Noiseless portátil, e a matéria começa a tomar forma.
Existe um preconceito velado contra a obesidade. Na verdade, dificilmente os homens o sentem. Podem ser gordos inteligentes ou ricos ou oferecerem tantos outros atrativos. Quem sofre o problema com maior intensidade são as mulheres. As mulheres gordas. O leitor pode se escandalizar com o uso da palavra gorda. Os eufemismos mais comuns são: cheinha, forte, grande e, o mais ousado, gordinha.
Geralmente, acham que a gorda (odeio a palavra obesa) não tem força de vontade. Nem caráter. Nem vergonha na cara. A gorda é um pária; o excesso de peso, um divisor de águas. O próprio adjetivo é um palavrão. Ninguém se importa com o sofrimento ou com a humilhação da gorda. Acham que ela é gorda porque quer.
Observem o olhar triste das moças gordas varrendo as vitrines da moda. Os figurinos são para as magras. Alguns vendedores ainda informam sem se alterar: “Aqui é só pra pessoas normais, madame”. E a gorda se afasta engolindo o ultraje. Restam-lhe as lojas especializadas ou as costureirinhas de bairro. Para mim, anormal é o tratamento do vendedor.
A obesidade é democrática, não faz diferença de classe. Há gordas ricas e gordas pobres. Todas sentem a mesma reprovação silenciosa da sociedade. Existem gordas belas, mas, se a beleza é notada, há sempre um apêndice ao comentário: “O rosto é lindo. Pena que seja gorda”.
Agora, cuidado! Além da opressão usual, todas as gordas da cidade, ricas ou pobres, feias ou lindas, virgens ou libertinas, correm o perigo de uma morte apavorante. As cinco mulheres torturadas e assassinadas nada têm em comum, a não ser o fardo da gordura. Um maníaco pervertido resolveu manifestar seu desagrado torturando e matando.
Em princípio, minhas matérias são ilustradas por fotografias, mesmo nas reportagens que mostram a crueldade do ser humano em condições absurdas, como na Revolução Espanhola. Desta vez as imagens são repulsivas demais até para homens acostumados aos pavores da guerra. Resta-me perguntar: quem é este homem?
Quem é este carniceiro insensível ao terror que provoca? Não há necessidade de um Belford Roxo ou da doutora Nise da Silveira para traçar o perfil da besta que perpetra esses horrores ou para analisar-lhe a psique. A banana que usou para violentar a última vítima é um símbolo claro da sua impotência.
Certamente, não é humano; se fosse, teria asco do que fez. O homem é o único animal capaz de sentir nojo.
Diana de Souza
Dez horas da noite da última quinta-feira do mês. Tobias e Diana estão sentados junto às vitrines, na sorveteria Americana, tomando um sorvete de creme com calda de chocolate. As vitrines envidraçadas da sorveteria permitem que os fregueses observem o movimento animado da Cinelândia. Os dois acabam de sair do Rival, onde assistiram à primeira sessão da peça Fontes luminosas, de Louis Verneuil e Georges Berr, com Dulcina e Odilon, o casal mais ilustre do teatro nacional.
— Confesso que tenho imensa dificuldade em entender o Odilon — comenta Tobias Esteves. — A voz é grave, bonita, mas as palavras jorram-lhe da boca aos borbotões. Deve ser porque eu sou português.
— Não é por ser português, não, Tobias. Eu não entendo metade do que ele fala.
Na dupla, a grande atriz é, sem dúvida, Dulcina. Odilon é um belo homem, com porte nobre, mas às vezes sua dicção torna o texto indecifrável. Mesmo assim, a química da dupla em cena é perfeita.
Uma jovem se aproxima da mesa, empunhando o último número d’O Cruzeiro aberto na página de Diana. É transparente sua admiração pela repórter.
— Desculpe, mas pode me dar seu autógrafo? Adoro as suas matérias. Meu pai é escritor e eu também pretendo escrever.
— Como é o seu nome?
— Maria Clara.
— E seu pai? Como ele se chama?
— Aníbal Machado.
— Gosto muito do que seu pai escreve. Espero que você tenha o mesmo talento — Diana diz, redigindo a dedicatória.
— Obrigada — agradece a jovem, satisfeita, afastando-se. Acena com a revista assinada para o seu grupo numa mesa distante, como se fosse um troféu.
Tobias Esteves aproveita o gancho para comentar o artigo de Diana:
— A propósito, não acha que a menina está a se expor demais? Não é possível calcular-se a reação do anormal.
— Duvido muito que ele se arrisque. As ruas continuam muito patrulhadas em função do golpe do dia 11. Ele pode ser louco, mas não é burro. Tanto que não há sinal de novos ataques. Depois, não faço parte da categoria de sua preferência.
— Mesmo assim, a obsessão do assassino por mulheres gordas pode mudar a qualquer momento. Sabe-se lá o que se passa naquela mente? Aliás, quando eu ainda era inspector de polícia em Portugal, desvendei o “Crime da Fechadura” — informa o detective, com uma ponta de orgulho.
— Foi um crime famoso?
— Em Portugal, sim. Era um padre fanático que matava miúdos. Chegou a matar e a cortar a língua de vinte e três, antes que eu o prendesse.
Diante do cenho franzido de Diana, ele traduz:
— Cá diz-se meninos.
— Eu sei, minha reação foi de espanto pelo absurdo do crime.
— Pois! Quando o prendi, ele explicou que matava as crianças pra curá-las do pecado mortal de espiar pela fechadura.
— E por que cortar fora a língua?
— Pra que eles não contassem o que viram.
Pela expressão inescrutável de Esteves, Diana não sabe se ele fala a sério.
— É muito tênue, a linha que separa o louco assassino do assassino louco. Por isso, chamou-me a atenção o que escreveste sobre o perfil psicológico do criminoso. Disseste-o bem, não carece um Freud pra perceber que estamos diante de um psicopata perigoso. Pelo que se averiguou nas autópsias, presume-se que seja impotente. Não há vestígios de conjunção carnal e o sêmen encontrado na parte externa das coxas de todas as vítimas pressupõe a incapacidade de penetração. As bananas enfiadas na pobrezita da polaca são um símbolo fálico óbvio.
— Mas por que gordas, só gordas?
— E por que doces portugueses, só portugueses? Será português?
Os dois se quedam pensativos por alguns momentos. Diana rompe o silêncio num grito:
— É a mãe!
As pessoas das mesas vizinhas se assustam, pensando que é uma ofensa de Diana ao companheiro. O maître se aproxima, pronto para intervir a fim de evitar qualquer comoção.
— Perdão, estou só contando uma história... — Diana explica, sorrindo.
Esteves continua, num tom mais civilizado:
— Claro, só pode ser fixação materna! Amor e ódio à própria mãe!
— E a mãe é gorda — completa Diana, entusiasmada.
— Gorda e portuguesa!
Esteves refreia sua animação:
— Ou de família portuguesa. Claro que não há provas de nada do que nós deduzimos, mas isso ajuda a formar uma imagem do assassino. Felizmente, ainda não houve outra atrocidade.
— Bem, vamos mudar de assunto? Tenho uma ótima notícia — revela Diana, pedindo mais sorvete para os dois. — Hoje, passei nas provas eliminatórias.
— Não faço a mínima ideia do que a menina está a falar.
— Santo Deus, Tobias, me classifiquei pro Circuito da Gávea, o Trampolim do Diabo! Vou correr no domingo. É o primeiro grande prêmio só pra pilotos brasileiros.
O susto é tão grande que Esteves se engasga e derruba a taça de sorvete na gravata.
Tobias Esteves acredita na competência de Diana como motorista. Sabe que ela guia com maestria o seu Lagonda lg6 Drophead conversível. Isto é, sabe por ouvir falar. Valdir Calixto, a quem Diana deixou em casa uma vez, jura que nunca mais pega carona com a bela piloto. Apesar da habilidade comprovada da moça ao dirigir a linda barata verde Racing Green, ele prefere quem conduza fazendo as curvas nas quatro rodas e evitando cavalos de pau para entrar numa vaga.
Na tarde do dia seguinte, mesmo sabendo do perigo, Tobias prontifica-se a ajudá-la. Ele é um aficionado do automobilismo. Quando estudante, nas férias disputava com os colegas carreiras ilegais ao volante de um Chevrolet pela estrada de Sintra. Ficara amigo do extraordinário corredor português Manoel de Oliveira, que correria no vi Circuito Internacional da Gávea, no dia 12 de junho, e estava no Rio ajustando seu Ford Menéres & Ferreirinha, feito no Porto. Vencera, com o mesmo carro, o Circuito Internacional do Estoril, chegando à frente das Bugatti e Mazerati. Manoel, que era também cineasta, acabara de lançar o documentário Já se fabricam automóveis em Portugal.
Diana seria a segunda mulher a participar do Circuito da Gávea. Dois anos antes, a francesa Mariette Hélène Delangle, mais conhecida pelo nome artístico de Hellé Nice, do tempo em que dançava no Casino de Paris, fora a sensação da corrida. Na última volta, quando ela disputava o terceiro lugar com Manuel de Teffé, as rodas dos carros se tocaram e Hellé voou sobre os espectadores. Resultado do acidente: três mortos e quarenta feridos. Entre os mortos, o soldado que acolheu o impacto direto do corpo de Hellé, que escapou. Algumas testemunhas do acidente disseram que a culpa havia sido de Teffé, que fechou o carro da francesa: “Ele não admitia ser ultrapassado por uma mulher”. De qualquer forma, nada foi comprovado e Manuel de Teffé ficou com o terceiro lugar.
Diana classificara-se na última prova eliminatória fazendo o percurso em nove minutos e dez segundos, abaixo do limite de dez minutos. Mesmo assim, seu tempo precisava melhorar. Ela alinharia seu carro ao lado de Chico Landi, Nascimento Júnior e outros corredores de grande experiência. A periculosidade do percurso já cobrara o seu ônus. Durante um dos treinos, José Bernardo, pilotando um Ford V8, bateu num barranco e morreu no hospital. Por ironia, o mesmo veículo já matara Irineu Corrêa, em 35, e Dante Palombo, em 36. O carro ficou conhecido como “O Assassino”.
— Se estás mesmo disposta, tens de melhorar a performance do teu galimão... — brinca Esteves, chamando o Lagonda de calhambeque.
— Eu aprendi como ajustar um carro com o meu amigo Manoel de Oliveira. Ninguém afina um motor como ele.
Diana se admira com a descoberta de um novo talento de Esteves. Quem diria que aquele portuguesinho gorducho entendia alguma coisa de automóveis? Aceita a oferta na hora, e os dois partem no belo Lagonda de Diana para uma oficina mecânica na rua Francisco Otaviano, onde Manoel de Oliveira preparava seu carro para a prova internacional. Depois das manifestações afetivas entre Manoel e Tobias, o detective apresenta Diana ao famoso corredor e explica o motivo da visita. Segue-se uma conversa que deixa Diana mais espantada ainda. Ela jamais poderia supor o conhecimento técnico de Esteves, que trocava ideias, de igual para igual, com o grande piloto português.
— Sabes muito bem que o Lagonda não é o carro apropriado pro circuito — começa o corredor.
— Sei, sei, mas a Diana é teimosa e conseguiu se classificar. Fez a volta em nove minutos e dez segundos.
— Com este Lagonda, assim, como está?!
— Pois.
— Meus parabéns — diz Oliveira, cumprimentando Diana. — Então a coisa muda de figura. Vamos ver o que podemos fazer pra melhorar o desempenho desta máquina.
Manoel abre o capô do conversível e estuda, em detalhes, o conjunto do motor. Depois de uma breve avaliação, ele declara:
— Acho que a primeira providência pra melhorar a velocidade do carro da senhorita corredora é rebaixar o cabeçote.
— Ao mesmo tempo, deve-se trocar a lona dos freios por lonas trançadas, pra evitar o aquecimento e tornar o conjunto mais eficaz — aconselha Tobias.
— Perfeito. Temos que substituir o carburador por um maior pra usar um giclê mais aberto.
— Claro! Isso vai fazer com que o resultado, por volta, melhore em torno de um segundo — concorda Tobias.
— O Rio é uma cidade muito quente, é melhor substituir a bobina elétrica por uma com mais capacidade. A colocação debaixo do capô é muito próxima ao bloco do motor e, depois de aquecida, pode fazer o carro falhar.
— Exato. Por isso, temos que trocar a ventoinha do radiador, que vem equipada com quatro pás, por uma de seis pás, que vai ventilar mais e baixar a temperatura — sugere Tobias Esteves.
Manoel examina os pneus.
— Está ameaçando chuva. Pra melhorar a aderência, é bom frisar os pneus com serrote para aumentar as ranhaduras. O Chico Landi e o Pintacuda fazem isso.
Terminando a inspeção minuciosa, ele abaixa-se atrás do carro.
— Pronto. Só falta agora colocar um cano de descarga reto no lugar do silencioso. A potência do Lagonda vai melhorar e a Diana vai se fazer notar pelo ronco ensurdecedor da máquina, antes mesmo que o público possa vê-la na pista.
Tobias diverte-se com a ideia:
— É tudo que a menina gosta, já chegar fazendo um barulho louco...
Rio de Janeiro, domingo, 29 de maio de 1938. Desta vez, a previsão do tempo acertou. Chove forte antes das nove, hora da largada do i Circuito da Gávea Nacional. Com mais de cem curvas e quatro tipos de piso diferentes: asfalto, cimento, paralelepípedo e areia, o traçado é um verdadeiro desafio à perícia dos pilotos, e a chuva torna o percurso mais perigoso ainda. No local da largada, os corredores passam pelos trilhos escorregadios dos bondes, aumentando o perigo. Oduvaldo Cozzi vai irradiar o acontecimento pela rádio Nacional e, dada a presença das autoridades, a rádio Tupi resolve transmitir o evento na voz de Rodolpho d’Alencastro:
“Muito bom dia, amigo rádio-ouvinte da prg-3, Tupi do Rio de Janeiro. Os heróis da pista estão literalmente get out little cockroaches race, expressão que, segundo me consta, vem da monárquica Grã-Bretanha e significa ‘fora das baratinhas de corrida’. Digo isso porque as divindades não pouparam os valorosos competidores das pesadas bátegas d’água que se abatem sobre suas cabeças, encharcando-lhes os bólidos e deixando o traçado ainda mais periclitante, o que em nada favorece o aguardado embate. Enfim, trocando em miúdos para os menos ilustrados, chove muito.”
Mello Noronha, Calixto e Tobias Esteves estão num lugar especial junto às tribunas, graças à posição privilegiada do delegado. Apesar de ocuparem uma arquibancada coberta, o precavido Calixto permanece com o guarda-chuva aberto para se proteger de eventuais respingos. Tobias é o mais nervoso de todos. Conhece bem os riscos do percurso, ainda mais com a chuva que cai. Noronha manifesta a ranzinzice de sempre:
— Só falta agora essa moça se estabacar contra uma árvore ou mergulhar do trampolim. — O delegado se refere ao Trampolim do Diabo, uma das curvas mais perigosas do trajeto. — Bom, pelo menos não se tem notícia de outra gorda assassinada. Minha mulher ficou tão assustada com o artigo da Diana n’O Cruzeiro que começou a fazer dieta.
— Mas a dona Yolanda não é gorda — pondera Calixto.
— Toda mulher acha que é — filosofa Noronha.
— Ser gordo ou se achar gordo são duas coisas diferentes — afirma Tobias Esteves. — Minha alcunha em Lisboa, junto aos colegas da delegacia, era Gordo; no entanto, não me acho gordo.
— O senhor não é gordo, é só um pouco baixo pro seu peso — declara o diplomático Calixto.
Escuta-se um alvoroço e é dada a partida. Os vinte pilotos se lançam em alta velocidade em busca da vitória.
O circuito
A largada é na rua Marquês de São Vicente, em frente às tribunas. Os carros seguem pela Visconde de Albuquerque, margeando o canal, e entram na avenida Niemeyer, beirando o mar. Depois, se afastam da orla marítima e seguem, em terreno plano, até subir pela estrada da Gávea. Passam pelo Trampolim do Diabo e, tendo atingido o topo da montanha, retornam à Marquês de São Vicente. São vinte voltas num percurso de onze quilômetros. Nas retas, as máquinas chegam a alcançar duzentos quilômetros por hora. Com chuva, é quase um suicídio. Tobias teme pela jornalista.
O pelotão completa a primeira volta e a voz hipnótica de Rodolpho d’Alencastro faz-se ouvir pelos alto-falantes instalados sobre as tribunas:
“Por mais que me esforce, como profissional dedicado, é difícil transmitir a emoção que me embarga em momentos de tamanha intensidade. Só não enrouqueço porque faço uso permanente do Xarope São João, que evita graves afecções da garganta e do peito. O Xarope São João é um remédio científico apresentado sob a forma de saboroso licor. Não ataca o estômago nem os rins e facilita a respiração, tornando-a mais ampla. O Xarope São João fortalece os brônquios e protege os pulmões da invasão de perigosos micróbios.”
No tempo que Rodolpho d’Alencastro leva para ler o reclame, Nascimento Júnior, Chico Landi e o resto do pelotão passam em frente ao palanque completando a quarta volta.
— Olha lá! A dona Diana está em quarto lugar! — grita o impetuoso Calixto.
— Mas, pelo ronco, o motor está a falhar — informa Esteves, que entende do assunto.
Na altura da décima segunda volta, eles notam a ausência de Diana. Os três se preocupam, há sempre a possibilidade de um acidente fatal. Vários carros desistiram da corrida. De repente, veem a moça, desolada, vindo a pé pela Marquês de São Vicente, em direção ao palanque. Ela tira a touca de couro e sacode seus cabelos lisos empapados de suor, sob a chuva que continua a cair. Lembra um cãozinho desprotegido saindo da água. O rosto está coberto de lama, a não ser no espaço protegido pelos óculos que ela traz nas mãos. Os óculos deixaram um espaço limpo formando uma máscara branca. Ela senta-se ao lado dos três, lamentando-se:
— Não deu.
— Como, não deu? — protesta Tobias. — Ficaste em quarto lugar durante boa parte da prova. Não te esqueças que correste junto a profissionais excelentes. E o trajeto não é fácil. O Quirino, irmão do Chico Landi, parou na quinta volta — consola ele, segurando timidamente a mão de Diana.
O grande prêmio segue numa certa monotonia até a última volta, confirmando a vitória de Nascimento Júnior, na ponta desde o início da prova, com Chico Landi no seu encalço.
Noronha, que odeia automóveis, apressa-se a sair, empurrando os companheiros.
— Calixto, amanhã, segunda-feira, às nove, na minha sala.
Esteves comenta baixinho com Diana:
— É impressionante como o delegado forma frases inteiras sem usar verbos.
O público vai pouco a pouco deixando o Circuito da Gávea. Há um clima melancólico de final de domingo. Ainda se escuta Rodolpho d’Alencastro tecendo seus últimos comentários:
“É quase impossível a este locutor, amigo rádio-ouvinte, resistir a tanta emoção. A corrida contou, inclusive, e pela segunda vez, com a participação de uma mulher, a notável sportswoman Diana de Souza, repórter d’O Cruzeiro, revista que, como a nossa emissora, pertence ao doutor Assis Chateaubriand. Se consegui ter forças para narrar evento tão extraordinário, foi devido à mão salvadora da Phytina Ciba. Tal é a Phytina: seu elemento de fósforo vegetal assimilável tem uma ação excelente sobre o sistema nervoso, neurastenia, excitabilidade, insônia, falta de memória, falta de apetite, esgotamento nervoso, enfim, todos os padecimentos provocados pela perda diária de fosfatos. Além disso, a Phytina Ciba contém cálcio e magnésio, elementos...”
A cantilena maviosa é interrompida pelo grito longínquo de um espectador que retorna a casa:
— Cala a boca, veado!
Pela primeira vez na vida, Rodolpho d’Alencastro não sabe o que falar.
Nos primeiros dias de junho, há um relaxamento na vigilância ostensiva das ruas da cidade. Primeiro porque não houve nenhuma repercussão a favor do golpe integralista e, segundo, e mais importante ainda, o Brasil estreou na terceira Copa do Mundo, na França, com uma vitória de seis a cinco sobre a Polônia. Os europeus se espantaram com a habilidade de Leônidas da Silva, o Diamante Negro, criador da “bicicleta”. Durante o jogo, no meio do campo encharcado, Leônidas perdeu as chuteiras, mas, mesmo assim, descalço, fez um gol. A Copa vem sendo marcada pela política. A Alemanha nazista invadira a Áustria e incorporara alguns jogadores austríacos à sua seleção. Os italianos eram vaiados por entrarem em campo fazendo a saudação fascista.
Caronte não é torcedor, odeia futebol. Na verdade, odeia qualquer tipo de esporte. A coisa mais parelha a uma arena esportiva que ele conhece é o cercado das rinhas de galo. Ele adora uma boa rinha. Principalmente aquelas mais sanguinolentas, quando os donos revestem os esporões das aves com esporas de aço afiadas como navalhas.
O que importa é que a competição está sendo transmitida em cadeia nacional diretamente da Europa. Acomodado nas gerais, junto ao público, o speaker Leonardo Gagliano Neto, da rádio Clube, narra os jogos do Brasil.
Pouco interessa a Caronte o resultado das pelejas. O que vai favorecer o seu passatempo predileto é que a maioria da população fica em casa ouvindo pelo rádio. Os que não têm aparelho se juntam diante da galeria Cruzeiro ou nos estádios de futebol para ouvir as transmissões pelos alto-falantes que as emissoras ali instalaram. Caronte acha esse entusiasmo de uma absoluta vulgaridade. Prefere ouvir programas de música clássica.
Lendo os jornais, soube que o jogo da véspera pelas quartas de final, contra a Tchecoslováquia, havia sido de uma violência ímpar e que o radialista, ao narrar a disputa, criara um trocadilho devido à brutalidade dos adversários, dizendo: “Eles não são tcheco-los-vacos, são tcheco-los-toros”. E que repetira essa tolice ad nauseam durante a partida.
Tarde de quinta-feira, 16 de junho de 1938, feriado de Corpus Christi. Milhares de torcedores escutam a transmissão feita por Gagliano Neto do confronto semifinal da Copa do Mundo, entre Brasil e Itália, no Stade Vélodrome de Marselha. Exceto por um ou outro transeunte desinteressado, a cidade está deserta. No seu gabinete, Noronha e Calixto, ouvidos colados ao rádio, sofrem com a irradiação. Faltam vinte e cinco minutos para terminar o primeiro tempo, e o placar ainda não se moveu. Num dado instante, referindo-se ao zagueiro italiano Pietro Rava, o locutor deita o verbo numa linguagem elaborada: “Em um impacto mais violento de encontro ao pé do stopper itálico, a esfera perdeu sua rotundidade legal, ficando inadequada para a prática do viril esporte bretão”.
— O que é que aconteceu? — pergunta o intrigado Calixto.
Noronha responde, lacônico:
— A bola furou.
A “esfera” é trocada e a partida continua.
Indiferente ao certame, Caronte aproveita o momento para retomar a caça às adiposas. Lera com desprezo o que Diana escrevera sobre ele. Impotente? Ele? Logo ele, que subjugava as gordas a todas as suas vontades? “Eu só me sentiria impotente na Índia, onde as vacas são sagradas”, ele sorri do próprio gracejo. Nem chega a sentir ódio daquela fêmea burra falando em banana com seu psicologismo hortigranjeiro. “Ah, será que ela é gorda?...” Ele imagina uma Diana imensa saindo da redação. Caronte afasta o pensamento dispersivo e se concentra no seu prazer macabro. Logo após o início do jogo, ele volta à espreita habitual, no vão escuro do Beco dos Barbeiros. É lá que as escolhe, é lá que tocaia o próximo butim. Sua boca enche-se de saliva numa antevisão do gozo reprimido. Duas gordas saem do reduto. Ele se encolhe junto ao muro e, num gesto generoso, as deixa passar. “Hoje, tenho algo singular”, ele pensa, sua magra silhueta camuflada pelas sombras dos portais. Caronte já seguiu a presa ideal inúmeras vezes e sabe para onde ela se dirige, porém quer sentir novamente a emoção da caça. Como um atirador de elite, ele aguarda o alvo. Agora, com a cidade tomada pela paixão dos jogos, é tempo de abate.
Na delegacia, Calixto rói as unhas. O ataque italiano procura superar o meio-campo brasileiro. Aos trinta minutos do primeiro tempo, o Brasil vai ao ataque e Gagliano Neto se entusiasma, narrando rápido, sem fazer vírgula:
“O Brasil ataca pela esquerda Perácio combina com Luisinho Luisinho a Martim Martim passa de primeira para Romeu Romeu a Patesko Patesko perde para Ferrari Ferrari a Andreolo que estende a Serantoni Zezé interfere e devolve a Romeu Romeu a Lopes Lopes avança pela lateral e chuta a gol o goalkeeper Olivieri salta e espalma para a linha de fundo!”
Caronte não tem que esperar muito. Logo surge a candidata eleita. Basta segui-la ao local da colheita. Ela vem andando rápido, com seus passinhos estreitos; olha para todos os lados da rua deserta, para certificar-se de que ninguém a observa. Quer passar despercebida, tarefa pouco provável para alguém daquele tamanho. “Ainda mais com essa roupa!” Caronte ri baixinho, quase revelando sua posição.
O drama continua a se desenrolar no campo do Vélodrome. Noronha e Calixto se esforçam para decifrar, entre os ruídos da estática, a locução irrepreensível de Gagliano, que, num fôlego, consegue a proeza de pronunciar com clareza cerca de duzentas palavras por minuto:
“Faltam poucos minutos para o término do primeiro tempo a bola é lançada por Domingos que adianta para o centro do campo a Luisinho mas Ferrari corta o passe e desvia para Meazza Meazza para Piola dentro da área vem Machado e rouba-lhe o balão de couro Machado devolve a Romeu Romeu passa para Lopes que escorrega e perde a bola para Locatelli Locatelli entrega para Colaussi na entrada da área Colaussi chuta com violência porém nosso goalkeeper defende com firmeza e o juiz Hans Wüthrich da Suíça trila seu apito encerrando o primeiro tempo!”
Sem ter ideia do monstro que a acossa, a jovem deixa o Beco dos Barbeiros e entra na igreja do Carmo. Caronte observa da porta a moça se benzer molhando os dedos na água benta da pia ao lado da entrada. Ela se ajoelha com dificuldade, segurando um pequeno frasco entre as palmas unidas, numa oração silenciosa. Levanta-se e sai na rua Primeiro de Março. Caronte a acompanha pela calçada oposta. A gorda vira à direita na rua São José e anda até o largo da Carioca, para pegar o bonde no Tabuleiro da Baiana, em direção à zona sul.
Durante o intervalo, Diana e Esteves chegam ao gabinete de Noronha. Como Portugal foi eliminado pela Suíça, Esteves torce pelo Brasil. Nervosa, Diana fuma em cadeia seus cigarros Liberty Ovais. Noronha acende um Panatela, adensando o nevoeiro. Valdir Calixto e Tobias Esteves tossem.
Tabuleiro da Baiana. O bonde está quase vazio. Há poucos carros circulando devido ao jogo. O condutor, que preferia estar na galeria Cruzeiro ouvindo o jogo pelos alto-falantes, ajuda a gorda a subir no estribo. Ela transpira bastante, empapando o lenço que usa para enxugar o rosto. As vestes largas não lhe ocultam a nediez. Caronte instala-se no último banco do carro e permanece de atalaia. Tilinta a campainha do condutor e o motorneiro avança pela Senador Dantas, o bonde rangendo nos trilhos. No largo da Glória, uma brisa suave atravessa o carro aberto e agita o chapéu de largas abas brancas da jovem, que então se assemelham às asas de uma gaivota alçando voo. O que primeiro excitou a imaginação do monstro foi precisamente o fato da gorda ser freira.
Na Itália, são dezenove horas e seis minutos. Gagliano Neto retoma sua metralhadora verbal:
“Atenção torcedor brasileiro! Vai recomeçar o confronto entre Brasil e Itália! Os players das duas equipes vão para as suas respectivas posições! O juiz apita e Romeu dá a saída passando a Lopes que dá a Luisinho este vem com velocidade e retorna a Lopes que o acompanha e chuta contra o gol italiano mas o back Foni percebe e põe a bola a corner! Luisinho bate o corner mas novamente Foni intercepta e cabeceia pondo a bola para a lateral! Domingos cobra para Perácio Perácio perde para Piola na altura da nossa linha média Piola dá um passe longo para Biavati na extrema direita Afonsinho o persegue mas não consegue apoderar-se da bola! Domingos domina a situação e devolve a bola para Patesko Patesko rompe a linha média adversária mas é derrubado por Foni! O bandeirinha assinala e o árbitro marca o foul contra a Itália no limite da área perigosa! Grande oportunidade para o Brasil! Machado bate a penalidade mandando a esfera para fora do gramado!”
Catete. O bonde desliza nos carris. Irmã Maria Auxiliadora refestela-se no banco duro de madeira. Continua a suar muito, confirmando que o pesado hábito monacal não se constitui na vestimenta ideal para os trópicos. Seu nome de batismo é Genoveva, em homenagem à santa de quem sua avó era devota. Sendo filha de pai desconhecido e tendo sua mãe, Mirtes de Souza, uma lavadeira vinda do interior do Paraná, morrido muito cedo, a pequena Genoveva fora criada pelas Irmãs Clarissas, no mosteiro Nossa Senhora dos Anjos da Porciúncula, na Gávea. É para onde a irmã Maria Auxiliadora se dirige. Herdara da mãe os lindos olhos azuis e o extenso diâmetro. Aos trinta anos, depois do noviciado, Genoveva recebera, na consagração, o nome de irmã Maria Auxiliadora. Nesta quinta-feira de Corpus Christi, o convento está praticamente vazio. A abadessa aproveitou o feriado para organizar uma peregrinação até a cidade de Aparecida, em São Paulo, para alegria das freiras e noviças. Sua hospedagem ficaria a cargo da arquidiocese de Nossa Senhora Aparecida. Irmã Maria Auxiliadora sente-se culpada, porque burlou a confiança da abadessa. Inventou uma forte enxaqueca para permanecer sozinha no Rio. Não podia faltar ao encontro no Beco dos Barbeiros e era a ocasião perfeita para se ausentar sem muitas explicações. O veículo deixa o largo do Machado, passa pela praça José de Alencar e chega à rua Marquês de Abrantes. Para Caronte, a viagem é o aperitivo antes da ceia.
O prélio estende-se pelo gramado francês e Gagliano informa ao Brasil:
“Luisinho passa para Perácio e este a Patesko que embora acossado por Andreolo consegue devolver a bola a Perácio que chuta a gol Olivieri num salto felino pula mandando a bola para corner! O Brasil perde uma ótima oportunidade de abrir a contagem! Tiro de meta a pelota vai em direção a Martim que cabeceia para Luisinho este para Romeu que estende um belo passe a Patesko Patesko escapa quando vai chutar é derrubado por Foni e a bola volta ao centro do campo! Patesko consegue romper a linha média adversária e entra na área italiana mas é derrubado por Foni! Nosso ponta-esquerda sofre foul! O bandeirinha assinala mas o juiz não consigna! Para mim a Suíça deixou de ser neutra!”
Botafogo. O Gávea, bonde elétrico no 10, atravessa a praia e entra na Voluntários da Pátria. Caronte se abana com o chapéu preto de abas largas, sem desgrudar a vista da monja. Para passar o tempo, irmã Maria Auxiliadora lê os anúncios que estão afixados naquele vagão, bem como em todos os vagões da Light:
Larga-me... deixa-me gritar!...
Na tosse, bronquite ou rouquidão,
use Xarope São João.
O clássico:
Veja, ilustre passageiro,
O belo tipo faceiro
Que o senhor tem a seu lado.
E, no entanto, acredite,
Quase morreu de bronquite,
Salvou-o o Rhum Creosotado.
E o reclame de um produto muito usado por Maria Auxiliadora:
Coceira, frieira, assadura,
Ai, meu Deus, que grande tortura;
Mas eis que encontrei a solução:
Passei a pomada de São Sebastião.
A irmã enrubesce de vergonha, como se o mundo associasse aquela propaganda às intertrigens das suas reentrâncias. Ela se benze e põe-se a rezar o terço.
Na França, o drama toma forma de tragédia:
“Dez minutos do segundo tempo e Machado dispara o tiro de meta para o Brasil Luisinho apodera-se da pelota mas é desarmado por Andreolo Andreolo entrega para Biavati Biavati foge pela direita e centra para Colaussi na cabeça da área Colaussi chuta e é gol.”
Humaitá. O no 10 segue pela Voluntários da Pátria, bamboleando nos trilhos, serpenteando como um dragão nos festejos do ano-novo chinês. “Olha à direita!”, grita o condutor, avisando sobre uma passagem mais estreita.
Na chefatura, a decepção é total. Noronha, nervoso, acende mais um charuto, esquecendo-se do primeiro fumado pela metade, e profetiza:
— Agora, não tem mais jeito.
O eterno otimista Calixto replica:
— Calma, doutor, ainda dá tempo.
Esteves, o sem metafísica, torce a teoria de Ockham:
— Pela lógica, quando algo começa errado, geralmente termina errado.
Diana enuncia a frase mais gasta pelas torcidas do mundo inteiro:
— Futebol não tem lógica.
Calixto replica com outra verdade acaciana:
— Eu diria até mais: futebol é uma caixinha de surpresas.
Pelas ondas curtas do rádio, Gagliano Neto tenta animar a torcida:
“Nosso valoroso goleiro Walter não se abate amigos ouvintes de todo Brasil pois sabe que o tiro itálico era indefensável! Romeu dá nova saída passa a bola a Luisinho Luisinho perde para Andreolo que chuta para fora! Zezé cobra o lateral em direção a Machado mas quem recebe o balão é Colaussi Colaussi mata a bola no peito mas perde para Lopes Lopes tenta fugir pela direita mas é desarmado por Foni que passa a Locatelli! Nosso meio-campo com Martim Luisinho e Perácio parece envolvido pelos adversários! Nesta altura o técnico Adhemar Pimenta deve lamentar a ausência daquele que já é considerado o maior crack da competição Leônidas da Silva o Homem de Borracha! Adhemar alega que o player sofre de dores musculares porém alguns comentam que Pimenta estaria poupando o Diamante Negro para a final! A verdade é que o nosso brilhante center-forward está fazendo falta!”
Largo dos Leões. Escutam-se os berros da multidão que se aglomera em torno dos alto-falantes instalados pela Light nos portões da imensa garagem de bondes localizada no largo. Irmã Maria Auxiliadora se assusta e Caronte boceja.
“Apesar da desvantagem de um gol nossos heroicos atletas não desanimam! Patesko conduz um perigoso ataque pela esquerda mas é desarmado por Pietro Rava e os italianos se fecham na defesa trocando passes com o objetivo de gastar o tempo! A falta de Leônidas na nossa equipe ganha dimensões dantescas! O Brasil domina territorialmente a Itália sem entretanto atingir o alvo! Serantoni desce pela direita e desfecha um potente chute mas Walter pratica uma bela defesa aplaudida pela multidão! Ferrari se apodera do couro e cruza para Biavati que passa a Meazza o forward italiano dribla Martim e devolve a Ferrari que perde o couro para Domingos! Domingos estende para Lopes no centro do gramado mas é Locatelli quem responde! Walter sai do gol e põe a bola para fora! Epa! Que que é isso minha gente! Piola dá um violento tranco em Domingos e Domingos revida aplicando-lhe uma rasteira! O juiz apita penalty! A pelota estava fora de jogo mas mesmo assim ele assinala penalty contra o Brasil! Meu Deus meu Deus meu Deus! Penalty! Sua Senhoria errou! A bola estava fora de campo o máximo que o árbitro helvético poderia fazer era nos punir com a expulsão do back! Domingos da Guia apenas revidou a agressão do atacante italiano mas o juiz não viu! Atenção torcida brasileira torçamos juntos! Estamos a doze minutos da segunda etapa! São mais de quarenta milhões de brasileiros colgados no silvo do apito de Hans Wüthrich! Meazza acaricia a pelota antes de pousá-la na marca para cobrar a penalidade máxima! Ele corre para a bola e na corrida seu calção arrebenta e desce-lhe pelas pernas mas mesmo assim Meazza chuta! A esfera fatídica vai para um lado Walter pula para o outro! Gol.”
— É culpa do escroto do puto do filho da puta do Filinto Müller! — esbraveja Noronha, esmurrando a mesa, no final do jogo.
Esteves quer saber como é possível responsabilizar Filinto pela derrota.
— Trama fascista! — explica o delegado, sem explicar nada.
— É isso mesmo, doutor. Drama fascista! — arremeda Calixto, bajulando Noronha.
Depois de sofrer o segundo gol, o Brasil reage, mas só consegue marcar poucos minutos antes do término da partida. Por todo o Brasil, o resultado equivale a uma hecatombe.
Um fanático por estatísticas calculou que Gagliano Neto pronunciou pelo menos quinze mil palavras durante o jogo, o que equivale a uma velocidade de doze mil palavras por hora.
— Mesmo assim, ainda tem o jogo contra a Suécia, contando com Leônidas. Nós podemos subir ao pódio no terceiro lugar — lembra Diana, tentando consolar o grupo.
— É verdade, doutor Noronha — anima-se Calixto. — Terceiro lugar, numa Copa do Mundo, lá na Europa. Não é nada, não é nada...
— Não é nada — arremata Tobias Esteves, com sua lógica arrasadora.
Jardim Botânico. O no 10 chega à praça Santos Dumont. Irmã Maria Auxiliadora e Caronte saltam do carro simultaneamente. Ao observador imaginoso, o sincronismo da cena lembraria uma marcação teatral.
O bonde segue sua rota.
“Só falta completar a pé a distância que vai nos levar ao destino final. No caso da freira, literalmente...”, pensa Caronte.
A cidade está silenciosa como nas Quartas-Feiras de Cinzas, depois do Carnaval. Na praça Santos Dumont, o caçador separa-se da caça. É uma separação temporária. Irmã Maria Auxiliadora atravessa a estreita rua das Magnólias para a Doze de Maio e sobe resfolegando, à direita, a rua do Jequitibá até o mosteiro das Clarissas Pobres. Caronte segue-a de longe, porém continua em frente, para o largo Allyrio de Mattos, no fim da mesma rua. Foi lá que ele guardou seu carro de manhã cedo. Nem se preocupou em escondê-lo. Sabe, pela experiência adquirida em anos como papa-defuntos, que as pessoas evitam se aproximar dos furgões funerários, por uma associação inconsciente com a sua própria morte.
As ruas do bairro permanecem desertas. Caronte entra pela porta lateral do veículo destinada aos ataúdes e abre a tampa do caixão que trouxera. Dentro dele, dispostas com esmero, há uma batina de frade bem dobrada, a corda que cinge a cintura, sandálias franciscanas, uma Bíblia antiga, bastante desgastada pelo uso em vários velórios, uma maleta abaulada de couro, como aquelas que os médicos utilizam para transportar seus instrumentos, e uma adaga gitana.
A adaga era das usadas nos rituais ciganos de passagem da adolescência para a idade adulta. Caronte se encantara com o desenho gótico do punhal e o comprara, por meia-pataca, de uma velha romena bêbada, numa feira de bugigangas em Augsburg. A faca, de longa lâmina dupla e cabo esculpido, valia decerto muito mais do que ele pagara.
Caronte fecha-se no estreito compartimento do furgão, tira a roupa, meias e sapatos. Em seguida, ele veste a batina e sai do carro para amarrar a corda rústica em volta da cintura. Calça as sandálias e as acha bastante confortáveis. “Pena que não combinem com os ternos que uso para trabalhar”, pensa, num devaneio. Escamoteia o mórbido punhal dentro das largas mangas do hábito, prendendo-o na bainha atada ao braço. O rosto pálido e a magreza quixotesca dão-lhe a aparência de um frade recém-saído do claustro. Ele senta-se no banco da frente, com a maleta ao lado, e finge ler a Bíblia.
Percebe-se que há pouco movimento atrás dos muros do convento. Lá ficaram apenas algumas freiras idosas e irmãs leigas para ajudar nos trabalhos, sendo que a quase totalidade das freiras e noviças participam da peregrinação a Aparecida. Pacientemente, Caronte acaricia a maleta onde leva seus próprios petrechos litúrgicos, e aguarda o anoitecer, logo depois das Vésperas, quando irmã Maria Auxiliadora se dirige, como é de seu costume, à capela do mosteiro e se confessa, procurando absolvição para seu único pecado.
A capela do mosteiro Nossa Senhora dos Anjos da Porciúncula, erigida alguns anos antes pelas Irmãs Clarissas, é o principal amparo de seu capelão, frei Crispiniano Boaventura. O bondoso frade cumpre outras diligências religiosas; contudo, a capela, onde ele celebra missas e atende à confissão das freiras, é também o abrigo das orações de frei Crispiniano sempre que o indulgente monge é consumido por dúvidas quanto a sua vocação.
O crepúsculo desta quinta-feira de Corpus Christi é um desses momentos. A capela está vazia. As poucas religiosas de mais idade que não embarcaram na piedosa excursão participaram, como todas as quintas-feiras e domingos, da Adoração ao Santíssimo Sacramento, das oito às dezoito horas, e já se recolheram às suas celas em profunda meditação, desprendidas do universo temporal que as cerca.
Frei Crispiniano é alto e magro, e, quando ele anda com suas passadas rápidas, os cabelos muito ruivos e desalinhados dão-lhe o aspecto de uma tocha bruxuleante. Agora, ajoelha-se diante do altar e pede ao arcanjo Miguel, seu protetor desde os tempos do seminário, quando era consumido pelas tentações da carne, um sinal que lhe assevere a fé. De olhos fechados e braços estendidos, ele reza com fervor, suplicando uma confirmação do seu chamamento:
“São Miguel Arcanjo, primeiro raio de Deus, gládio da proteção e mensageiro da vontade de Deus, defende-me das vacilações na minha crença, sê nosso guardião contra as tentações e as ciladas do demônio. Tu, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipita ao inferno com tua espada todos os espíritos malignos que assolam minha alma com incertezas. Dá-me um indício de que minha devoção é aceita e será recompensada nos céus.”
No auge do enlevo, num instante de plena adoração, frei Crispiniano Boaventura tem uma epifania e sabe que a dor fulgurante que lhe trespassa o coração como um raio é a espada de são Miguel Arcanjo abrindo-lhe as portas do paraíso.
Na verdade, a espada é apenas a adaga gitana de Caronte abrindo caminho para o confessionário.
Assim que irmã Maria Auxiliadora entra às escondidas na capela, para a confissão diuturna, é atraída pelo som do órgão raramente tocado, a não ser por ocasião das missas solenes celebradas pelo arcebispo. Ela estranha a presença daquele frade capuchinho de magreza eremítica, cujas mãos longas e esquálidas extraem tão sublime som do órgão empoeirado. Sua palidez compete com a das imagens de santos que enfeitam a capela. Irmã Maria Auxiliadora reconhece o tema interpretado com tanta maestria. É a missa Se la face ay pale, de Guillaume Dufay.
Irmã Maria Auxiliadora se pergunta a que deve essa bênção e indaga por frei Crispiniano, seu confessor habitual.
— Pax et lux, irmã Maria Auxiliadora. Sou o frei Annunciatto. Nosso amado irmão Crispiniano foi obrigado a atender uma convocação da Ordem — mente Caronte, que escondeu o corpo do pobre frade na sacristia. — Pediu-me que ouvisse a confissão da irmã Maria Auxiliadora, caso a irmã não veja nenhuma objeção, claro.
— Como recusar um confessor que interpreta Se la face ay pale de maneira tão angelical? A música é minha segunda paixão.
— Posso perguntar qual é a primeira?
— Pode, mas só durante a confissão — responde irmã Maria Auxiliadora, dirigindo-se, saltitante, ao confessionário.
Ele levanta-se e, com a maleta na mão, a acompanha até o cubículo colocado perto do púlpito. Ela observa a pequena mala enfeitada com um crucifixo. Caronte nota a curiosidade da freira e explica:
— Dentro dela trago objetos do ofício. Costumo chamá-la de meu estojo sacro de emergência, mas ainda é surpresa.
Irmã Maria Auxiliadora desculpa-se, embaraçada:
— Perdão, frei Annunciatto, não quero parecer abelhuda.
— De forma alguma, não deve haver segredos entre nós. Vamos — ele diz, apontando o confessionário.
Caronte ajuda a irmã Maria Auxiliadora a ajoelhar-se no seu lado da cabine, instala-se no outro e segreda, um sorriso servil estampado no rosto:
— Fico feliz que a minha ousadia musical não tenha ofendido seus ouvidos. Guillaume Dufay é o meu compositor medieval favorito.
A freira nem escuta as palavras de Caronte, pois já começou o palavreado em latim:
— Ignosce mihi, Pater, quia peccavi!
E emenda numa ladainha veloz, repetida mecanicamente ao longo dos anos:
— Deus meus, ex toto corde paénitet me ómnium meórum peccatórum, eáque detéstor, qui peccándo, non solum...
É interrompida por Caronte:
— Minha filha, tenho certeza de que Deus conhece bem o ato de contrição. Quando foi sua última confissão?
— Ontem.
— E que sério pecado a irmã cometeu de ontem para hoje?
— O da gula.
— É um pecado capital, minha filha, mas pode ser mortal.
— Eu sei, eu sei! Mas, por mais que eu reze, não consigo me livrar dessa tentação! Basta ver um docinho que eu não resisto. Às vezes, as irmãs me oferecem uma nesguinha de um bolo de chocolate e, quando eu me dou conta, comi o bolo todo. Sabe como é que me chamam aqui no mosteiro?
— Não.
— A Noviça Roliça.
Caronte pigarreia para disfarçar o riso.
— A irmã conhece o real significado de pecado mortal?
— Claro que sim, frei. Quer dizer que, quando eu morrer, vou direto pro inferno.
— Acho que a palavra mortal pode expressar algo mais imediato.
— Como assim? — ela pergunta, ansiosa.
— Calma. Tudo a seu tempo. Primeiro, sou portador de boas-novas. Vim aqui hoje como capelão, para cumprir uma missão especial. Um emissário do Vaticano trouxe-me, em confidência, uma Litterae Apostolicae, uma bula papal, do nosso Santo Padre, a ser publicada ainda este mês, tratando desse problema que a aflige. O título da carta apostólica é: Gula. Indulgentia de obesitate. No texto, o Sumo Pontífice explica que a gula, ou gastrimargia, não deve mais ser considerada pecado.
Irmã Maria Auxiliadora mal consegue se conter de tanta alegria. Será essa nova “Bula da gula” o término do seu sofrimento, da sua culpa? Não mais comer às escondidas, temendo a zombaria das irmãs ou a severa recriminação do seu confessor?
Caronte susta-lhe o devaneio:
— No entanto, há uma penitência a cumprir.
— Uma penitência? Que penitência? — preocupa-se a freira.
— Nada de muito grave. Para redimir-se das transgressões cometidas anteriormente, a irmã deve ingerir a causa das suas faltas até não poder mais, como se devorasse o mal que lhe consome as entranhas.
Irmã Maria Auxiliadora não resiste a uma gargalhada:
— Mas essa penitência é melhor que o pecado!
Ela logo se arrepende do que disse. Parece-lhe falta de respeito com a Igreja.
— A palavra de Sua Santidade é infalível! — admoesta Caronte, erguendo a mão. — O que não te contei, e está escrito na carta apostólica, foi que o Santo Papa foi informado pelos escolásticos da Confraria dos Taumaturgos de que a Gula é um dos demônios do inferno; filha de Lilith com Pazuzu, irmã de Jezebeth e de Abigor, prima de Asmodeus e Astaroth! Segundo são Tomás de Aquino, ela é o íncubo da concupiscência e dos prazeres libidinosos transportados para o palato. Sob a forma de uma serpente astral, a Gula se instala, com a bocarra escancarada, no esôfago do pecador. Assim, quanto mais o pobre mártir come, em vez de saciar a fome, mais vontade tem ele de comer. São Tomás cita o filósofo grego Cícero, para alicerçar a teoria: “Ab igne ignem capere”. Ou seja, é como “apagar o fogo com fogo”. Tudo está revelado na parte oculta da Summa theologiae guardada a sete chaves no Vaticano e à qual só tem acesso o Conselho de Anciões da Confraria e o próprio papa!
Irmã Maria Auxiliadora se benze, aterrorizada. Caronte sai do confessionário, puxando a freira pelas mãos. Senta-se ao lado dela no primeiro banco da capela e declara:
— Por sorte, estou em condições de ajudar. — Ele puxa do bolso da batina uma carta escrita num pergaminho rebuscado. — Não é por acaso que estou aqui. Sou dos primeiros sacerdotes formados em Roma pela Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé na prática deste tipo especial de exorcismo.
Caronte destrava a maleta.
— Tenho tudo que é necessário para remissão dos seus delitos. Trago-lhe absolvição e indulgência plenária. Aqui está seu castigo, Irmã Clarissa.
Unindo o gesto à palavra, ele levanta o guardanapo de cambraia de linho branco com bordas rendadas que protege o conteúdo da valise. Junto à estola e à Bíblia, dispostos em várias camadas, em filas simétricas, surgem dezenas de Pastéis de Santa Clara.
Irmã Maria Auxiliadora não consegue desviar os olhos daquele tesouro. No desvario da sua glutonaria, a Noviça Roliça imagina que os pastéis olham de volta para ela.
— Repare na delicadeza diáfana da forma. Um sopro reverteria a massa fina em poeira de farinha — Caronte segreda em seu ouvido, açulando-lhe o desejo.
Irmã Maria Auxiliadora estende as mãozinhas ávidas para a maleta, mas ele interrompe seu gesto, segurando-lhe os pulsos:
— Calma, irmã! Como eu disse, antes há de se fazer o ritual do exorcismo desse poderoso demônio! Segundo o meu bispo, é a primeira vez que este esconjuro é praticado no mundo. Os olhos de Roma estão sobre nós! — Ele pega a Bíblia e a estola, ordenando, imperioso: — Ajoelha-te!
Irmã Maria Auxiliadora obedece, de mãos postas, porém sem desgrudar a vista dos folheados.
— Abre a boca e come o mais rápido que podes, enquanto eu leio o exorcismo!
Inicia-se, então, o grotesco exercício. A patética freira abocanha os pastéis, entupindo-se, e Caronte despeja uma algaravia em latim improvisado, começando pela receita do pastel:
— Pastillus Sancta Clara! Coque aqua calore saccharo altum usque punctum stamina. Lutea ovorum addere commoventes semper. Add amygdalas, aut nuces et citrinusve aquas. Excita cum coquina et bene ire cacabum relevet frigus!
O falso frade continua em falso latim:
— Exorcizo te, omnis spiritus immunde, in nomine Dei Patris omnipotentis, et in noimine Domini et Judicis nostri, et in virtute Spiritus et descedas ab hoc plasmate Dei unus, irmã Maria Auxiliadora, pecatoribus quod Dominus noster ad templum sanctumsuum vocare dignatus est, et fiat templum lux, exitus Gula Demonium! Exitus Gula Demonium! Exitus irmã Maria Auxiliadora! Dei vivi, et Spiritus Dominum nostrum, qui venturus est judicare vivos et mortuos, et saeculum per saeculum saeculorum!
Irmã Maria Auxiliadora segue num ritmo frenético. Alternando as mãos para imprimir maior velocidade ao movimento, ela embatuma-se quase sem mastigar, estimulada pela cantilena cada vez mais rápida de Caronte:
— Exitus Gula Demonium! Exitus Gula Demonium!
Sua voz leva a freira a um compasso mais veloz:
— Exitus Gula Demonium! Exitus Gula Demonium!
Ela entulha as bochechas, pastel sobre pastel, e ele acelera:
— Exitus Gula Demonium! Exitus Gula Demonium! Exitus Gula Demonium! Exitus Gula Demonium!
Irmã Maria Auxiliadora procura acompanhar-lhe a cadência, mas engasga nas folhas finas dos pastéis. Sofre um acesso de tosse. Tenta comer tossindo, o que se revela impossível. Nem mesmo a devoção da freira vence a barreira da física.
Nesse instante, Caronte pega um punhado dos poucos pastéis que sobraram e soca-lhe goela abaixo. Num meneio, como um toureiro volteando a muleta, ele passa-lhe a estola tapando-lhe a boca e aperta o laço.
Antes de sufocar polvilhada de açúcar de confeiteiro, irmã Maria Auxiliadora observa, horrorizada, a frente da batina de Caronte erguida pelo seu membro intumescido.
Onze e meia da noite de sexta-feira. Depois de uma longa viagem, os ônibus que levaram as Irmãs Clarissas em romaria a Aparecida chegam à rua do Jequitibá. As freiras, fatigadas, saltam dos veículos e cruzam os portões do mosteiro, ainda conversando sobre as maravilhas da segunda basílica erigida em homenagem à padroeira do Brasil. Trazem viva na memória a imagem da santa coberta pelo belíssimo manto azul. A madre superiora, abadessa Celestina de Aragão, pede a sua auxiliar, a mestra de noviças irmã Clemente, que vá com as religiosas até suas celas.
— Irmã, por favor, acompanhe as meninas. Estamos todas exaustas, mas, antes de me deitar, quero rezar por nós e agradecer por essa viagem tranquila, ocorrida sem incidentes — ela explica, indo para a capela.
As Clarissas estão para se recolher, quando são estacadas, a meio caminho dos quartos, pelo grito pungente da madre superiora. Tamanho é o pavor sugerido pelo berro interminável que os corpos das moças são atravessados por um arrepio como dominós em cascata. O urro é seguido pelo pranto alto e gemidos dilacerantes da pobre madre Celestina. Irmã Clemente, segunda em comando, próxima abadessa na linha de sucessão, com a autoridade que lhe foi conferida ordena que as freirinhas sigam para as celas e, reunindo a coragem que lhe resta, dirige-se para a capela.
O quadro com que ela se defronta é comparável às mais horríveis visões do inferno. Assemelha-se a um cenário de grand-guignol. Irmã Clemente apoia-se, trêmula, no encosto do último banco, para permanecer de pé. Ajoelhada junto à pia batismal, a madre superiora soluça incontrolavelmente, agarrando-se ao rosário de cento e sessenta e cinco toscas contas de madeira que sempre traz preso à cintura. O rosário, vindo de Assis, fora presente do pai quando ela recebera os votos.
À frente da abadessa Celestina de Aragão, estendida ao longo da nave da capela, de braços abertos em cruz, encontra-se irmã Maria Auxiliadora completamente nua. O hábito, arrancado com violência e empapado numa mistura de sangue e sêmen, jaz nos degraus do altar.
O ventre da infausta jovem, cujo único pecado na vida fora o incontrolável fato de ser gorda, está rasgado de cima a baixo, expondo uma enorme quantidade de Pastéis de Santa Clara. Mais pastéis também cercam o corpo de Maria Auxiliadora.
No lugar dos globos oculares extraídos com precisão, foram enfiados dois apetitosos Olhos de Sogra.
Ao lado da maleta abandonada por Caronte, um bilhete em latim, escrito à mão com o próprio sangue da infeliz:
Ego te absolvo a peccatis tuis... Ha! Ha! Ha!
(Risus Sardonius)
Avisada da ocorrência, a delegacia do bairro localizou de imediato o delegado Mello Noronha na Central e passou-lhe a informação. Na madrugada de sábado, Noronha, Esteves, Diana e o sonolento Calixto encontram-se na capela transformada em cena do crime. O delegado quis impedir a jornalista de comparecer, imaginando a situação que os aguardava. Nada a dissuadiu.
— Já basta o que eu sofro com o dpdc — ela argumentou, referindo-se ao Departamento de Propaganda e Difusão Cultural, que controlava a Censura. — Sou bastante grandinha pra enfrentar qualquer calamidade. Não será pior do que os horrores que vi na Guerra Civil Espanhola.
A capela foi invadida por vários funcionários do Departamento Nacional de Segurança Pública. Como a sustentação do Estado Novo depende de uma polícia forte e bem equipada, houve um esforço no sentido de modernizar a corporação. E pelo menos nos aspectos técnicos e científicos a medicina legal beneficiou-se com isso. A Polícia Técnica conta, agora, com os melhores sistemas de investigação científica.
Técnicos especialistas em datiloscopia cobrem o confessionário, o altar e os bancos da frente com carbonato de chumbo, o pó branco utilizado para revelar impressões digitais. É como se uma fina camada de talco revestisse parte da capela. O objetivo de revelar uma impressão latente é visualizar o desenho das cristas papilares, que são as linhas do desenho das impressões digitais. Os detalhes dos desenhos dessas linhas é que vão permitir a classificação da impressão e o confronto da impressão latente com as digitais do suspeito. Sabe-se que nem mesmo gêmeos univitelinos possuem impressões digitais iguais.
Outro grupo recorta a frente do hábito manchado da freira assassinada, para tentar identificar os fluidos fisiológicos no laboratório do iml.
Uma cuidadosa busca na cela de irmã Maria Auxiliadora nada informou aos investigadores; apenas confirmou a expressão “pobreza franciscana”. Como objetos pessoais, fotografias de família, uma escova de dentes e uma barra de sabão de coco. No criado-mudo, uma moringa, um copo e um frasco de vitaminas naturais.
Foi impossível interrogar a abadessa Celestina de Aragão, ainda em estado de choque, mas a mestra de noviças, irmã Clemente, também bastante alterada, conseguiu explicar que o mosteiro estava praticamente vazio, devido à peregrinação das freiras e noviças a Aparecida.
— Não entendemos por que Maria Auxiliadora alegou estar doente pra não viajar conosco. É um mistério que acabou em tragédia — desabafa irmã Clemente, sem conter as lágrimas.
— A que horas a senhora acha que a irmã Maria Auxiliadora veio à capela? — pergunta Esteves, estendendo-lhe um lenço.
— Não sei dizer. Normalmente, às quintas-feiras, ela procurava seu confessor frei Crispiniano, logo depois da Adoração ao Santíssimo Sacramento, mas ontem ninguém a viu. As poucas irmãs que ficaram aqui pensaram que ela estava repousando em sua cela. Se eu soubesse que ela... — despeja a freira, consumida por uma culpa que não tem.
— A que horas termina a Adoração ao Santíssimo Sacramento?
— Às dezoito horas.
— Pelo estado do corpo, presumo que a vítima tenha sido atacada entre as dezoito e as dezenove horas — arrisca Esteves. — Sem pôr em dúvida a castidade da falecida, a mestra acha possível que ela tenha sido seduzida por algum aldrabão? Percebe? Uma vez, em Évora, uma freirinha...
Tobias Esteves é interrompido pelo pranto convulsivo da mestra de noviças.
— Temos certeza de que não é o caso — intervém Diana, com um olhar de reprovação para Tobias. — Irmã Maria Auxiliadora não é a primeira vítima desse monstro.
Depois da inspeção da cela e da entrevista com a mestra de noviças, Noronha, Esteves e Diana sentam-se no chão da capela formando um semicírculo em volta da maleta abandonada por Caronte. Calixto, protegendo seu ilibado terno de linho 120, evita o convite, alegando que prefere se familiarizar com o local do crime.
A maleta foi examinada, virada e revirada pelos técnicos, à procura de impressões ou de qualquer indício. Encontraram apenas farelos, as digitais da freira e alguns borrões numa Bíblia encadernada em couro, desgastado por anos de uso.
— É claro que ele deixou a maleta como uma provocação — declara, irritado, Noronha.
— E obviamente estava disfarçado de padre, ou melhor, de frade franciscano — completa Esteves.
— Por que “obviamente”? — Diana pergunta.
— Pela estola usada pra sufocar a pobrezinha, pela cruz na maleta e pela Bíblia dentro dela. Quanto ao facto de estar disfarçado de frade franciscano, não há melhor maneira pra se ganhar a confiança de uma Clarissa. O nosso próximo passo será encontrar o verdadeiro confessor da freira.
— Ai, meu Deus do céu! Valei-me, minha santa Bárbara, que sois mais forte que a violência dos furacões!
O grito agudo e lancinante vem da sacristia. Calixto surge, lívido de pavor, apoiando-se no umbral da porta.
— Tem mais um defunto morto aqui!
A redundância do inspetor anuncia o corpo ensanguentado de frei Crispiniano Boaventura.
A descoberta do frade na sacristia leva a equipe de técnicos a uma nova busca por provas da presença do assassino. Diana, aproveitando-se da distração momentânea motivada pelo achado, pega sua Leica 250 e tira várias fotografias da capela e das vítimas. Pretende escrever outro artigo sobre o psicopata. Não publicará as fotos, são horríveis demais, porém vai arquivá-las como registro da bestialidade dos crimes.
Tobias Esteves quer examinar a marca deixada no cadáver pelo punhal. Noronha concorda.
— Tem que ser logo, antes que o chato do Varejão chegue — diz o delegado, referindo-se ao legista Ignacio Varejão. — Ele se acha dono de todos os defuntos.
— É preciso sacar a sotaina ao clérigo. Calixto, uma ajudazinha, se me faz favor.
— Eu!?
— Não me digas que tens medo dos mortos — debocha o português.
— De jeito nenhum, doutor Tobias, é que eu sou religioso demais pra tirar batina de padre.
Sob o comando de Noronha, os técnicos do iml despem o frade e guardam a batina para levá-la ao laboratório. É óbvio aos detetives que esse homicídio foge ao modus operandi do assassino. O frei teve a infelicidade de estar na hora errada no lugar errado. Esteves vira o corpo de lado e percebe que a faca trespassou o coração.
— Morreu na hora — comenta Noronha.
— É possível.
— Claro que sim! Furou o coração! — replica Noronha.
— Nem sempre a morte é imediata, a não ser que o golpe tenha seccionado alguma artéria principal. O que provoca a parada cardíaca é o vazamento de sangue do pericárdio, que reveste o coração. Mas o senhor doutor delegado sabe muito bem disso.
— Evidente — resmunga Mello Noronha, sem ter ideia do que Esteves está falando.
— O mais interessante é o formato da lesão feita pela entrada do punhal — observa ele, examinando a fenda dilacerada. — Veja, senhor doutor delegado, ambas as bordas da ferida nas costas, por onde a faca entrou, estão rasgadas, mas, na saída, ela deixou apenas duas marcas pequeninas, como se a arma tivesse duas lâminas com os fios trabalhados. Além disso, senhor doutor delegado, ladeando a entrada há duas lacerações causadas pela guarda do cabo.
— Então não é uma faca qualquer?
— Bem, nós costumamos generalizar, chamando de faca os instrumentos de corte; na verdade, existem vários tipos do que nós chamamos de armas brancas: as cortantes, as perfurantes, as perfurocortantes, as corto-contundentes; há os punhais de dois gumes, os facões, a faca Bowie, a gaúcha, as Tantôs japonesas, a lendária Kukri, do Nepal, a Djambia, do Iêmen, ligeiramente curva, as adagas árabes, as navalhas espanholas, as facas serrilhadas; enfim, a quantidade é infindável. Mas o utensílio que vitimou o frei é de uma raridade extraordinária. Só existe uma arma branca no mundo inteiro capaz de infligir esse ferimento. — Tobias faz uma pausa para realçar a importância da revelação. — Trata-se de uma adaga cigana.
— ?
— A adaga é entregue ao cigano numa cerimônia ritualística quando ele passa da adolescência à vida adulta. É associada à vida e à morte. Muito difícil de encontrar. Um colega meu foi assassinado com uma igual — conta Esteves, melancólico, lembrando-se do amigo morto.
— Quer dizer que foi o matador das gordas que matou o seu amigo? — pergunta o obnubilado Calixto.
O raciocínio obtuso do inspetor fica sem resposta devido à chegada intempestiva do legista Ignacio Varejão. O médico entra aos berros na sacristia:
— Quem mandou tirar a roupa do padre? Vocês estão contaminando a cena do crime!
— A única pessoa contaminadora aqui é você — responde, calmamente, Noronha, saindo da sacristia.
A busca se revelou tão infrutífera quanto a que fizeram na capela. As únicas impressões diferentes pertencem ao frade assassinado.
— Pura perda de tempo. O canalha usou luvas — conclui Noronha.
— Pode ser... — retruca Esteves, pensativo.
— Como, pode ser? Qual é a dúvida agora?! — responde Noronha, impaciente.
— Nada, nada, delegado. É provável, ele não poderia mesmo limpar tudo que pegou ou onde esbarrou. Só que...
— Só que o quê?!
— Custa-me imaginar um frade de luvas.
“Tupi, G3 do Rio, a pr- que estão ouvindo”, enuncia o ubíquo Rodolpho d’Alencastro, invertendo a ordem do prefixo. “Alastra-se a tragédia no Caso das Esganadas. Unindo o terror ao sacro, o monstro assassino vitimou uma freira indefesa no mosteiro das Clarissas. Desta vez, todavia, o pérfido homicida não perde por esperar. O chefe de polícia, capitão Filinto Müller, colocou à disposição dos investigadores a mais moderna parafernália científica, capaz de detectar a mais ínfima impressão digital.
“Esta notícia de última hora chega aos vossos lares numa cortesia da Ankilostomina Fontoura. Sente-se cansado? O corpo não quer trabalho? Seu rosto magro e amarelo denuncia um estado doentio. Esse braseiro na boca do estômago, essa preguiça sem fim e a palidez da pele são sintomas de opilação. Não se alarme: a moléstia é terrível, mas curável prontamente com a Ankilostomina Fontoura. Ankilostomina Fontoura é recomendada por todos os médicos.
“E atenção, muita atenção! Nossa fonte ligada ao palácio Central da Polícia acaba de nos informar que também há um experiente detetive lusitano colaborando nas pesquisas.”
O professor Friedrich Berminghaus, do Colégio Real de Química e diretor do Departamento de Anatomia da Universidade de Munique, de quem Caronte fora discípulo na Alemanha, era grão-mestre enxadrista da Deutscher Schachbund, a Federação Alemã de Xadrez, e participara da ii Olimpíada do jogo, realizada em Haia, em 1928. Naquela ocasião, conhecera o vencedor daquele ano, o suíço Oskar Naegeli, e tornara-se amigo dele. Além da paixão pelo enxadrismo, outro interesse unia os dois homens. Oskar Naegeli era médico. Tendo se especializado em patologia na Universidade de Freiburg com o Prêmio Nobel de Fisiologia Robert Bárány, o professor doutor Naegeli dirigia o Departamento de Dermatologia Clínica da Universidade de Berna. Sua pesquisa atual referia-se à venereologia e à genética. Em 1927, o cientista quase concorrera ao Nobel, ao descobrir, numa família suíça, uma incomum alteração genética. Oskar a descrevera como familiärer Chromatophoren-Naevus. Desde a descoberta, o fenômeno passara a ser conhecido como Naegeli Syndrom ou síndrome de Nagali, em sua homenagem. Trata-se de uma má-formação excepcional do feto. A probabilidade de um bebê nascer com essa deficiência é infinitesimal. A síndrome caracteriza-se pela fragilidade das unhas, dos cabelos e dos dentes, que correm o risco de cair espontaneamente, e por manchas marrons irregulares na pele.
Porém, a distorção mais extravagante desse raríssimo defeito genético é que os portadores da síndrome de Nagali não têm, nem nunca terão, impressões digitais.
Em 1929, durante a semana do Torneio Internacional de Xadrez em Munique, Berminghaus hospeda o amigo e colega Oskar Naegeli em sua magnífica mansão da Über der Klause, no bairro nobre da cidade. Naegeli é recebido na porta por um moço magro, de poucos cabelos e sorriso de porcelana. Desperta sua atenção aquele rapaz tão jovem com dentaduras postiças guarnecendo
-lhe as gengivas. Ao apertar a mão dele, nota-lhe a flacidez das unhas e a falta de aderência na ponta dos dedos. No entanto, nada diz, mas por pouco não consegue conter a excitação. A possibilidade de encontrar um paciente que sofria da síndrome recém-descoberta por ele era praticamente nula! Subindo as escadas, o adolescente acompanha Naegeli até o quarto de hóspedes, carregando-lhe a mala.
— Herr Professor Berminghaus o aguarda na sala de jantar daqui a meia hora, Herr Doktor. Há um banheiro no final do corredor — informa o jovem, falando baixo, de forma quase servil, e, sem esperar resposta, escafede-se escada abaixo.
Durante o jantar, Naegeli nem responde quando seu anfitrião pergunta sobre o torneio do qual ambos participarão a partir do dia seguinte.
— Meu caro Friedrich, há coisa mais interessante na sua casa do que pode ocorrer no tabuleiro.
— A que você se refere?
— Ao jovem que me abriu a porta!
— Caronte? — pergunta o professor, rindo. — Reconheço que ele é meio exótico, mas interessante? Não, meu amigo, o rapaz não é interessante, é brasileiro.
— O que é mais intrigante ainda! Que faz um moço da selva, portador da minha síndrome, na sua casa?
— Ele não é da selva, é do Rio de Janeiro — retifica Berminghaus. — Depois, como é que você diagnosticou-lhe, tão rapidamente, uma doença tão rara? Você está me parecendo aqueles cientistas que enxergam suas descobertas em qualquer esquina. Você toca a campainha, e quem abre a porta? O próprio familiärer Chromatophoren-Naevus! — troça o professor, que, como cientista, conhece e admira as pesquisas do amigo.
Naegeli bate os punhos na mesa, rubro de raiva.
— Sei muito bem da improbabilidade disso ter acontecido, mas às favas com as estatísticas! Não sou nenhum velho senil! Pelo menos me explique por que é que você tem um criado estrangeiro.
— Ele não é criado — responde o professor, começando a se irritar. — É um jovem aluno meu, no Colégio Real de Química. Deixo que ele ocupe um dos quartos perto do meu laboratório pessoal. Sua família é dona da maior empresa funerária do Brasil, e, quando o pai soube que eu estudei com Von Hofmann, quis que ele aprendesse comigo as técnicas modernas de embalsamamento e a utilização do formaldeído. — Um sorriso desanuvia o semblante de Berminghaus. — Meu querido amigo, agora entendo a sua confusão! Você notou o desgaste da ponta dos dedos do rapaz, causado por queimaduras do formaldeído, e confundiu com ausência permanente de impressões digitais. Eu o preveni várias vezes pra que fosse cuidadoso, mas os jovens são impetuosos! — completa Friedrich, rindo. — Pode ficar tranquilo que elas crescem de novo!
O professor doutor Oskar Naegeli sabe que não baseou seu diagnóstico somente nos dedos do rapaz, porém não quer perder o amigo.
Depois do jantar, sem ter noção de que Caronte, oculto no jardim de inverno, a tudo escutou, os dois enxadristas discutem, entre goles de Armagnac e baforadas de charuto, as últimas vitórias de Capablanca.
No antigo matadouro da rua Elpídio Boamorte, no bairro Praça da Bandeira, seu abrigo favorito, Caronte limpa cuidadosamente a lâmina da adaga cigana, antes de recolhê-la ao estojo. Não pretende usá-la de novo. Depois de lavá-la e poli-la várias vezes numa repetição obsessiva, ele a guarda junto ao retrato entronizado de seu pai morto. Fotografara o cadáver sentado, de pernas cruzadas e olhos abertos. Era a memorabilia mais valiosa da sua pequena coleção.
Quanto às impressões digitais, Caronte nunca se preocupou em não deixá-las nos locais onde praticava seus crimes, simplesmente porque não as tem. Conhece muito bem a Naegeli Syndrom, a síndrome de Nagali. Desde que escutou a discussão entre seu professor e Oskar Naegeli, tratou de se informar sobre a raríssima deformidade ocorrida quando ele ainda estava na barriga da mãe: “Claro! Isso foi alguma porcaria que a gorda grávida comeu, a puta gulosa!”.
A aberração não o incomodava. Divertia-se sabendo que a polícia percorria cada centímetro em volta das vítimas procurando sinais que nunca encontraria. Antes de tomar conhecimento da enfermidade, Caronte atribuía o fenômeno ao fato de ter começado a lidar com formaldeído e derivados muito cedo. A fina espessura das unhas e dos cabelos o aborrecia muito mais. Desde rapazinho, acostumara-se ao uso das próteses dentárias totais, feitas sob medida em Zurique, com o tradicional rigor suíço. Gostava do alvor exorbitante do seu sorriso.
O único distúrbio causado pela síndrome que Caronte execrava eram as manchas marrom-escuras disseminadas pelo corpo. As poucas que apareciam acima das camisas de gola alta, no pescoço e no rosto, semelhantes a largas sardas, ele ocultava com maquiagem. Já sentia repulsa pelas manchas quando era muito jovem.
Antes que Caronte voltasse da Alemanha, seu pai pediu-lhe que fosse ao Peru para estudar o embalsamamento das múmias incas. Uma descoberta fora feita na cidade sagrada de Machu Picchu. As múmias eram de mulheres jovens presumivelmente oferecidas em sacrifício. Nem todas eram virgens, só aquelas oferecidas às divindades mais importantes no panteão dos deuses incas.
A viagem é exaustiva: primeiro, de navio até Lima; depois, de ônibus até Cuzco, e, finalmente, uma trilha de quarenta quilômetros para chegar à Cidade Perdida dos Incas, localizada no topo de uma montanha, a dois mil e quatrocentos metros de altitude. É uma jornada perigosa, sem falar nas cusparadas de lhama e em outros incômodos do percurso, porém Caronte nada pode negar ao pai.
Em Machu Picchu, conhece o guru boliviano Ðÿþü Humiña — no dialeto quíchua pronuncia-se Bilu —, que vinha em peregrinação desde o lago Titicaca. O homem santo complementava sua renda traficando cocaína.
Ðÿþü Humiña inicia Caronte no uso de uma infusão mística feita à base do cacto Tocha Peruana. Esse cacto, semelhante a um enorme falo peludo, contém dez vezes mais mescalina do que o peiote. A beberagem, chamada pelos sacerdotes de yacapachi, era usada nas cerimônias religiosas dos antigos incas em homenagem ao deus Viracocha Pachacaiachi, o “Criador de todas as coisas”. O guru dublê de traficante boliviano conta a Caronte que, segundo os incas, foi às margens do Titicaca, o lago mais alto do mundo, que Viracocha terminou sua obra de criação depois do Uno Pachacuti, uma grande inundação que assolou o mundo. Viracocha desceu dos céus e, apiedando-se dos homens que erravam pela Terra sem destino, deu-lhes como soberanos os seus filhos, Manco Capac e sua irmã Mama.
De toda essa magnífica e edificante narrativa, o que interessou mesmo a Caronte foi o chá.
Após ingerir uma cabaça do líquido, Caronte arrancou todas as suas roupas. Quando se olhou nu no espelho, sob o efeito alucinógeno da poção, enxergou as manchas do seu corpo distorcidas, se alastrando pela pele. Ðÿþü Humiña, também alterado pelo yacapachi, gritava na língua secreta dos antigos sacerdotes incas: “Pracnatan! Pracnatan!”, que significa “leopardo louco”. O guru, em transe, deu um uivo terrível e caiu fulminado, espumando pela boca.
Nunca mais Caronte conseguiu olhar suas manchas de outra forma. Um calafrio gela-lhe a espinha sempre que recorda o episódio.
Satisfeito com sua última façanha, ainda vestindo a batina para prolongar o prazer da aventura, ele senta-se ao piano e começa a tocar uma transcrição da Nona de Beethoven. Pensa na próxima vítima. Talvez esteja na hora de apimentar seu cardápio. A cozinha portuguesa é rica em doces e salgados. Ele fecha os olhos e navega, alheio ao tempo, pela melodia. Assim que os abre, assusta-se ao ver a figura de um ancião de boca enrugada refletida no piano. Dá uma gargalhada grotesca. O velho retribui na mesma intensidade. A imagem que vê espelhada é a dele mesmo. Caronte esqueceu-se de colocar a dentadura. As duas próteses estão repousando num copo d’água sobre a pia, sorrindo para ele.
Uma semana depois dos últimos assassinatos, no início do inverno suave do Rio de Janeiro, há uma sensação de desânimo no gabinete do delegado Mello Noronha. Por mais que examinem, à lupa, as várias fotos dos crimes e os documentos esparramados sobre a mesa de reuniões, nenhuma ideia nova lhes ocorre. Em vão, eles leem pela milésima vez as poucas informações dos arquivos e tornam a examinar os objetos recolhidos nos locais dos delitos, à procura de pistas.
As pastas que continham relatórios de outras investigações e geralmente ficavam empilhadas no escritório do delegado, deram lugar ao Caso das Esganadas. As pesquisas realizadas pela equipe da Polícia Técnica nas residências das moças não revelaram nada de significativo.
Os quatro reexaminam a disparidade das vítimas. Tentam imaginar o que elas teriam em comum além da obesidade. Frequentariam o mesmo banho turco? Difícil vislumbrar uma freira e uma prostituta compartilhando o mesmo banho. Como faria o assassino para encontrá-las? Seria obra do acaso? Esteves deduz, erradamente, que o assassino deve perder um tempo enorme limpando qualquer traço de impressões. Diana conclui, de forma mais incorreta ainda, que o executor deve ter um cúmplice para ajudá-lo a eliminar os vestígios do massacre. Noronha, macambúzio, não sugere nada.
O surpreendente Calixto, que foi coroinha na infância, reza, em silêncio, num terço escondido no bolso do paletó. Está muito nervoso. Jamais pensou em se envolver na investigação de ocorrências tão pavorosas. Entrou para a polícia considerando uma carreira tranquila como guarda de trânsito, mas, devido ao seu excepcional porte físico, logo foi encaminhado para serviços mais temerários na Divisão de Homicídios. Ainda teve muita sorte ao ser escolhido por Noronha como assistente, escapou por pouco de ser requisitado para a Divisão da Polícia Especial. Não se via de quepe vermelho montado numa motocicleta, com a sirene ligada, como batedor, abrindo caminho para algum chapa-branca a cem quilômetros por hora.
O grupo permanece calado, pensativo, as fotografias espalhadas pelo tampo da mesa, formando um quebra-cabeça sangrento.
Noronha quebra o mutismo:
— O pior é que não há nada que nos leve a investigar nenhum suspeito. Todos são inocentes.
Tobias Esteves volta à sua lógica no estilo de Ockham:
— Perdão, mas não se pode provar uma inocência, não há como fazê-lo porque a inocência é uma negativa, é a ausência de culpa. Neste caso, a presença do assassino só pode ser provada pela ausência de provas. Ele é tão inteligente que a prova de sua presença é a ausência.
— Faz sentido — concorda Calixto, que como Diana e Noronha não entendeu coisa alguma.
O detective português prossegue, evocativo:
— Isso faz-me lembrar do caso da “Viúva Negra de Setúbal”.
A frase desperta de imediato a atenção dos outros. Esteves não diz mais nada. Depois da pausa, Mello Noronha pergunta:
— Então?
— Então o quê?
— Não vai nos contar que caso foi esse da aranha negra?
— Ah, percebo! Querem que eu conte o caso? Mas não é aranha, é viúva.
— Sim, mas a viúva-negra é uma aranha.
— Não neste caso. Neste caso é um apodo.
O desinformado Calixto interfere:
— Gozado, eu pensei que a aranha fosse um inseto.
— Meu querido Calixto, antes de tudo a aranha não é um inseto, é um artrópode aracnídeo — corrige Tobias. — Mas apodo é o que vocês cá chamam de apelido. A Viúva Negra de Setúbal era Conchita Gutierrez, uma espanhola de rara beleza, que, como a aranha, matava seus machos. Depois de matar o primeiro marido em Badajoz, mudou-se para Setúbal, fugindo da polícia espanhola. Em Setúbal, casou-se mais sete vezes com homens riquíssimos, que morriam envenenados em circunstâncias misteriosas. Ninguém encontrava o veneno. O chefe de polícia mandou-me de Lisboa para investigar. Conchita acabava de casar-se pela oitava vez e sempre passava a lua de mel na ilha da Madeira. De lá, voltava viúva e mais rica. Dessa vez casara-se com o milionário Ernesto Balourinho, o rei da sardinha em lata. Segui o casal recém-casado até a ilha. No hotel onde se hospedava, chamavam-na à socapa de Conchita, La Concha Asesina — diz Tobias Esteves, rindo sozinho.
Percebendo que a diminuta plateia não entendia a graça, ele explica:
— Isso porque ela era espanhola, e, em espanhol, concha é a maneira vulgar de se referir à vagina. Concha Asesina. Entenderam?
— Ela assassinava os maridos com a concha? — pergunta Calixto, subitamente interessado.
Tobias esclarece:
— Não com a própria concha. Se assim o fizesse, a morte seria um delírio de gozos...
— Tudo isso deve ser muito engraçado em Portugal — corta Noronha, perdendo a paciência. — Mas como foi que você esclareceu o mistério?
— Digo-lhe já. Como bom português, sou amante do mar e conheço muito bem nossa fauna marinha. Lembrei-me que, na costa da ilha, vive a perigosa Hypselodoris tricolor, a lesma-do-mar. Seu veneno é fatal e quase impossível de detectar se for ingerida por inteiro.
Diana manifesta sua curiosidade científica:
— Como se acha essa lesma?
— É bastante comum na região da Madeira. Vive debaixo de pedras e sempre perto de esponjas.
— Será que dá pra concluir? — pergunta Noronha, impaciente.
— Pois bem, assim que o casal instalou-se, ela foi-se ao banho de mar e pediu que preparassem duas dúzias de ostras-portuguesas pra mesma noite, que era a de núpcias. Queria que as servissem no quarto. Ninguém estranhou, porque dizem que as ostras são afrodisíacas.
— Quer dizer que as ostras têm dois sexos? — pergunta o ignorante Calixto, confundindo afrodisíacas com hermafroditas.
Noronha e Diana nem se dão o trabalho de explicar. Querem saber o final da história. Diana pressiona Esteves:
— E daí, Tobias, o que foi que aconteceu?
— Disfarcei-me de camareiro e fui levar as ostras. Pus a bandeja na mesa da sala, mas, em vez de ir-me embora, escafedi-me para detrás das cortinas. Os dois se esfregavam trocando beijocas, e Conchita, já de calcinha e sutiã, sugeriu que o marido fosse pôr-se em pijamas. Assim que Balourinho entrou no quarto, Conchita, mais que depressa, puxou de sob a mesa uma cestinha com as lesmas-do-mar e as substituiu pelas ostras-portuguesas, colocando-as nas mesmas conchas. A aparência das duas é idêntica. Quando o marido voltou e estava quase a comer as lesmas, saltei de meu esconderijo e dei voz de prisão à assassina, salvando a vida do milionário. Tão agradecido ficou ele que, durante anos, todo Natal mandava-me uma lata de sardinhas.
Tobias reprime a emoção ao terminar de contar o caso.
— E o que é que esse caso tem a ver com o nosso? — indaga o delegado.
— Nada. Por isso mesmo fez-me lembrar.
Ninguém contesta a lógica tortuosa de Tobias.
— Então Conchita matava com a concha e com as conchas — arremata o filosófico Calixto.
— Ela foi condenada a quantos anos de prisão? — pergunta Noronha.
— Tinha dinheiro suficiente pra contratar os melhores advogados do país. A defesa argumentou falta de sanidade mental e convocou os grandes psiquiatras de Portugal e de toda a Europa. Depois de examiná-la, eles atestaram que ela sofria de uma nevropatia psicopática mórbido-compulsiva que a levava a um comportamento sócio-homicida. Enfim, que tratava-se de uma deficiente. Acabou pegando apenas dez anos num manicômio particular, onde infernizava a vida dos enfermeiros.
— Acabou se dando bem — resume Diana.
— Nem tanto, menina Diana, nem tanto...
— Por quê?
— Poucos anos depois, o neurologista português Egas Moniz inventou a lobotomia, uma pequena intervenção cirúrgica no cérebro pra controlar o comportamento... indesejável de certos doentes.
Calixto, com pavor de doenças e de hospitais, diz que precisa ir ao banheiro e sai da sala. Tobias Esteves continua em tom professoral:
— Na verdade, é um procedimento bastante simples. O cirurgião espeta um picador de gelo com uma martelada no crânio do paciente, logo acima do canal lacrimal, cortando as ligações entre os lobos frontais e o tálamo. A operação deixa os mais incômodos doentes psiquiátricos num estado de placidez absoluta. Devido ao seu comportamento rebelde, Conchita foi escolhida como “voluntária” pra receber o novo tratamento. A intervenção, chamada de psicocirurgia, foi um tremendo sucesso. Conchita ficou calminha, sentadinha, a olhar p’as paredes...
— Nenhum efeito colateral? — ironiza Diana.
— Bem... ela baba um pouco.
De repente, escuta-se uma balbúrdia na antessala. A porta do gabinete gira nos gonzos com violência, e Calixto entra rolando no chão, agarrado a um homem de batina. Ele monta a cavalo sobre o intruso, tentando passar-lhe as algemas.
— Peguei o assassino, doutor Noronha! Já estava entrando quando eu pulei em cima dele! Ia matar o senhor de surpresa, usando o mesmo disfarce de padre! Tá preso, canalha, safado!
Tobias e Noronha arrancam Calixto de cima do eclesiástico. A situação cria um imenso mal-estar, porque não se trata do assassino, e sim de frei Mariano Campanela, arcebispo da Ordem Franciscana.
— Peço mil desculpas pelo excesso de zelo do meu subordinado, Eminência. Esqueci de avisar que o senhor viria hoje à tarde conversar sobre a liberação dos restos mortais dos dois religiosos.
— Não tem importância, meu filho — responde frei Mariano, levantando-se e recuperando-se do susto. — Bem-aventurados os pobres de espírito. São Francisco nos ensina a perdoar os arroubos dos seres contemplados com a parvoíce.
— Obrigado, padre — agradece Calixto, pensando tratar-se de um elogio.
Noronha tenta amenizar o vexame:
— Depois da perícia, os corpos foram finalmente liberados pelo iml. Sabemos que o assassinato do frei Crispiniano Boaventura foi obra do acaso. Infelizmente, ele estava na hora errada no lugar errado. Quanto à irmã Maria Auxiliadora, seu perfil é igual ao das outras vítimas. Se Vossa Eminência quiser, eu mesmo me encarrego de enviar os dois corpos pro local de vossa escolha.
— Agradeço a gentileza, delegado. Em geral, as cerimônias fúnebres franciscanas primam pela humildade, mas, devido à excepcionalidade do caso, a Cúria achou de sua obrigação providenciar para que as exéquias fossem realizadas pela mais celebrada empresa da cidade, a funerária Estige.
— Não se preocupe, Eminência, vou tratar de tudo pessoalmente.
— Paz e bem a todos — abençoa o bispo, despedindo-se.
Antes que ele saia, o arrependido Calixto ajoelha-se e beija-lhe o anel, pedindo absolvição pelo ataque equivocado. O arcebispo retira-se, com Calixto ainda agarrado às suas pernas.
Depois da trágica explosão do dirigível Hindenburg, em Nova Jersey, o transatlântico Cap Arcona, da Hamburg Süd, passou a ser o orgulho da marinha alemã e da propaganda nazista. Incomparável em luxo e rapidez, o Cap Arcona é o mais famoso de todos os navios a singrar o Atlântico na chamada Rota de Ouro e Prata. Seus imensos tanques de óleo combustível permitem ao verdadeiro gigante dos mares uma autonomia de cruzeiro equivalente a uma viagem de ida e volta com escalas entre Hamburgo e Buenos Aires. A poucas milhas do Rio de Janeiro, onde devem desembarcar cerca de trezentos passageiros, um incidente ocorrido a bordo preocupa o capitão de longo curso Hans von Schilemberg, comandante do vapor. Como é de praxe, o oficial comunica o episódio à Abwehr, o serviço de espionagem alemão, usando o novo código Enigma da marinha alemã:
cruzarmos a ilha dp fprnando dp noronha, pprto da costa brasilpira,
a quatro dias dp viagpm do porto
do rio dp janpiro, Wpdi ao doutor hprmann wprdprgard, médico dp bordo, qup pxaminassp o Wassagpiro prnst wabpr, cantor, baixo-barítono, mpmbro da comWanhia dp óWpra dp
o cantor aWrpspntava, dpsdp as Wrimpiras horas da manhã, sinais dp uma violpnta intoxicação, com vômitos p diarrpia contínuos. como npnhum outro Wassagpiro ou mpmbro da
os mpsmos sintomas, foi afastada
a Wossibilidadp dp um pnvpnpnampnto alimpntar causado
Cauteloso por natureza, também registra o motivo de sua apreensão no diário de bordo.
Diário de Bordo do Cap Arcona
Quinta-feira, 30 de junho de 1938 — 10h25 UTC.
Ao cruzarmos a ilha de Fernando de Noronha, perto da costa brasileira, a quatro dias de viagem do porto do Rio de Janeiro, pedi ao doutor Hermann Werdergard, médico de bordo, que examinasse o passageiro Ernst Waber, cantor, baixo-barítono, membro da Companhia de Ópera de Mönchengladbach. O cantor apresentava, desde as primeiras horas da manhã, sinais de uma violenta intoxicação, com vômitos e diarreia contínuos. Como nenhum outro passageiro ou membro da tripulação manifestasse os mesmos sintomas, foi afastada a possibilidade de um envenenamento alimentar causado pela despensa de bordo. O doutor Werdergard diagnosticou o caso como botulismo. Indagado pelo facultativo, Waber declarou que tinha na sua bagagem algumas latas de patê de fígado em conserva, e que, na véspera, ingerira, sozinho, parte de uma delas. Sem mais delongas, o médico ordenou ao camareiro-chefe que recolhesse os comestíveis no camarote do cantor, inclusive as latas fechadas, e incinerasse todo o material nas fornalhas do navio. Ernst Waber foi imediatamente recolhido à enfermaria e posto em quarentena.
Para Franz Lopenheim, diretor da Mönchengladbach Festspielhaus, o acontecimento é uma tragédia de dimensões incalculáveis. Para ele, a notícia tem um efeito pior do que se tivessem torpedeado o Cap Arcona. Mönchengladbach é a terra natal do ministro de Propaganda do Terceiro Reich, Joseph Goebbels, e a Companhia de Ópera, a menina dos seus olhos. Franz Lopenheim foi colocado na direção da companhia por ser afilhado do Reichspropagandaminister, e não por ter alguma competência especial. Na verdade, nada entende de música. Não o confessaria nem aos torturadores da Gestapo, mas odeia ópera. Mais do que a ópera, odeia seu padrinho e o nazismo.
A viagem da companhia ao Brasil faz parte da campanha de divulgação da cultura germânica na América do Sul, projeto pelo qual o ministro nutre grande simpatia. Ao mesmo tempo, atende ao pedido do seu colega brasileiro, Lourival Fontes, diretor do Departamento de Propaganda e Difusão Cultural. Fascista convicto e admirador de Goebbels, Lourival é a prova viva de que o carisma independe da beleza; o que tem de feio, tem de inteligente. Estrábico, seus inimigos caçoam dele, dizendo que um dos seus olhos é brigado com o outro. Lourival não cuida da aparência; roupa amarfanhada, manchada pelas cinzas do cigarro sempre preso na ponta da piteira. Os mais íntimos dizem que suas cuecas são borradas, porque ele se limpa sem esmero ao usar as latrinas. Higiene à parte, Lourival Fontes é um dos homens mais poderosos do governo. Dedica a Getúlio a mesma idolatria que Goebbels devota ao líder da Alemanha nazista.
A ópera selecionada para abrir a temporada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro é Das Rheingold, O ouro do Reno, primeira do ciclo de quatro óperas épicas que formam O anel do nibelungo, de Richard Wagner, compositor favorito do Führer Adolf Hitler. A escolha de Der Ring des Nibelungen se encaixa como uma luva com as intenções de Goebbels e Lourival: estreitar as relações entre os dois países promovendo a cultura alemã. O tema das óperas trata de deuses e heróis mitológicos teutônicos, valquírias, guerreiros e dos nibelungos, gnomos que habitam o interior da Terra.
No primeiro quadro d’O ouro do Reno, as três ninfas irmãs, Woglinde, Wellgunde e Flosshilde, guardiãs do ouro, brincam no fundo do rio com o ardiloso anão Alberich, um gnomo nibelungo, que tenta cativá-las. Durante o jogo de sedução, as ninfas revelam um segredo: quem se apoderar do ouro do rio Reno e com ele forjar um anel, dominará o mundo. Portanto, a primeira cena do espetáculo cabe às ninfas e a Alberich, interpretado por Ernst Waber, que não é anão mas é baixo. Baixo-barítono, não baixo em altura. O fato dos cantores nunca serem anões é uma convenção teatral aceita por todos. Na ópera, o que vale é a voz e não a estatura.
Ernst Waber continua entre a vida e a morte, isolado na enfermaria do Cap Arcona, com o zeloso médico aplicando-lhe uma série de enemas para purgar seus intestinos do resto de veneno. Seu desembarque no Rio pronto para atuar é improvável; por que não dizer?, impossível. Caso sobreviva, deverá permanecer em isolamento até seu retorno à amada Vaterland.
Diante da hecatombe, o primeiro pensamento de Franz Lopenheim é o suicídio. O navio passa por uma região infestada de tubarões. Desiste logo da ideia e faz o que todo membro do partido faria. Por meio de um telegrama, transfere o problema para seu superior, um funcionário do ministério em Berlim. Este, mais experiente, envia um telegrama ao Departamento de Propaganda e Difusão Cultural, no Rio, transferindo para eles o problema. Devem encontrar um cantor de ópera baixo-barítono para completar o elenco alemão interpretando o papel do anão Alberich. Tanto o funcionário como Franz dormem tranquilos sonhando com o Valhalla, a morada dos deuses.
No Rio de Janeiro, instala-se o pânico no Departamento de Propaganda e Difusão Cultural. Seus servidores estão mais acostumados a perseguir a cultura do que a difundi-la. A única vez que algum deles ouviu falar em ópera foi assistindo ao filme Uma noite na Ópera, dos irmãos Marx. Sabem que o tal projeto alemão é importante para o chefe. Não querem aborrecê-lo. Resolvem procurar alguém que entenda do assunto. Um deles, o Nogueirinha, funcionário público nomeado por pistolão depois de uma fracassada tentativa como goleiro reserva do Canto do Rio, e malogrado professor de violão em Cordovil, conhecia o compositor e violonista Bororó das madrugadas de samba. Bororó era assíduo frequentador da boemia carioca. Moreno e atarracado, ganhara o apelido ainda na infância, quando um professor do colégio Santo Inácio, onde fazia o primário, descobriu que um grupo de índios bororós tinha visitado seu pai. Bororó relacionava-se com todo mundo da classe artística e era bem informado sobre qualquer gênero musical.
A pedido dos colegas, Nogueirinha marca um encontro com Bororó sexta-feira à noite, no café Nice, na avenida Rio Branco. Lá se reúnem boêmios, cantores, compositores e intelectuais.
— Nogueirinha, há quanto tempo! — saúda o compositor, estranhando o cenho franzido do servidor. — Como vai essa bizarria?
— Calado, Bororó. Pra manter o emprego no dpdc, o melhor é ficar de boca fechada. Como dizem por lá, Deus nos deu dois ouvidos, dois olhos e uma boca só. Uma boca com dentes pra morder a língua.
Bororó sabe que Nogueirinha não trabalha no dpdc por convicção, mas para sobreviver. Um dirigente de certo prestígio político do Canto do Rio Football Club se apiedara do desditoso ex-goleiro e conseguira-lhe um “cabide” na famigerada repartição. Tão infortunado era Nogueirinha que quebrara dois dedos ao defender uma bola nos treinos, o que prejudicara sua promissora carreira de professor de violão. O barnabé, como são chamados os funcionários públicos de baixa posição, é magro, de olhos tristes, veste calças de fundilhos lustrosos e paletó de cotovelos gastos. Uma gravata salpicada de manchas de gordura enfeita-lhe o colarinho puído da camisa.
— O que posso fazer pelo amigo?
Nogueirinha mal consegue explicar o desastre:
— Parece que uma companhia alemã vai estrear no Municipal e o anão ficou doente.
— O anão ficou doente? É peça infantil?
— Que nada, é ópera. Se cancelarem, o chefe vai ficar puto da vida. O Filinto confirmou presença na estreia e o Gegê só não vai porque não é teatro de revista — informa Nogueirinha, referindo-se ao presidente.
Depois de muitas doses de cachaça e garrafas de cerveja, Bororó desvenda o mistério:
— Pelo que eu entendi, o baixo-barítono que faz o anão Alberich, n’O anel do nibelungo, está internado no navio com botulismo e vocês têm que encontrar um substituto à altura. Sem trocadilho, claro.
— É mais ou menos isso — concorda Nogueirinha, enrolando a língua.
— Pois há males que vêm para o bem, acho até que o seu chefe vai ficar agradecido pelo acidente, meu ignaro amigo.
— Como assim?
— Temos, aqui no Rio, o cantor ideal. Conhece as óperas de cor e, além de baixo, é anão.
— Ou estou muito bêbado ou não estou entendendo mais nada — retruca Nogueirinha, confuso.
— Obscuro e iletrado companheiro, pela primeira vez na história, Alberich, o gnomo nibelungo, vai ser vivido por um verdadeiro anão. Acho que Wagner ficaria encantado. O papel do duende deformado é sempre cantado por um baixo-barítono, mas nunca por um anão de verdade. Acontece que nós temos esse anão e ele é baixo. Já o ouvi cantar numa serenata. É um dos maiores baixos do mundo! — afirma Bororó, também meio bêbado.
Passa das quatro quando os dois amigos se despedem cambaleando em direções opostas. Bororó vai em busca do bife do Lamas, e Nogueirinha, para o aconchego da sua cama, antevendo a acolhida triunfal que terá na manhã seguinte, ao revelar ao chefe o endereço de Otelo Cerejeira, mais conhecido como o palhaço Rodapé ou, o que de fato interessa ao Departamento de Propaganda e Difusão Cultural, il cantante Battiscopa.
Mesmo que tivesse dois metros de altura, Battiscopa, o baixo anão, não caberia em si de felicidade. Pela primeira vez, ensaiava num palco de verdade, com uma companhia alemã e no Theatro Municipal. O maestro Wolfgang von Hasslocher, monstro sagrado da Oper Mönchengladbach, encantara-se com o porte e com a voz privilegiada do pequenino cantor. Sonhava em levá-lo para a Alemanha. Que comoção ter um gnomo verdadeiro cantando o papel de Alberich. “Que jogo de cena! Que voz! Esse anão é o grave mais profundo que já ouvi! É um mistério, um som tão poderoso sair de uma caixa tão pequena!” Wolfgang vislumbra o sucesso que faria apresentando o fenômeno no Festival de Bayreuth. Desde a sua inauguração, em 1876, por coincidência com a performance de Das Rheingold, jamais se vira algo igual. Presente, naquele dia, além do Kaiser Wilhelm e outros membros da nobreza europeia, por mais uma coincidência: o imperador do Brasil dom Pedro ii. Certamente, a elite nazista, aferrada a horóscopos e alegorias místicas, veria o duende como um bom presságio. Para o maestro, o surgimento improvável e inesperado do anão era um verdadeiro deus ex machina.
Franz Lopenheim, o diretor da companhia, começa a achar que o envenenamento por botulismo de Ernst Waber foi obra dos deuses nórdicos. Basta observar o assombro do elenco alemão e a inveja do coro brasileiro. Lopenheim traz no bolso uma proposta milionária irrecusável para Otelo Cerejeira, agora, oficialmente, Othelo Battiscopa. Lopenheim quer oferecer o anão de presente a Hitler, em setembro, na convenção do partido em Nuremberg.
O Cap Arcona aporta às seis da manhã de segunda-feira 4 de julho, um dia antes do que previra o comandante. O estado de saúde de Ernst Waber piorara e ele não pudera avistar a baía de Guanabara pela escotilha da enfermaria. Ninguém do elenco se importou muito, primeiro porque desconfiavam que Ernst era um espião da Gestapo e seu envenenamento não fora acidental, depois porque souberam pelo rádio de bordo que já havia sido encontrado um esplêndido substituto. Com uma semana de ensaio, conseguiriam estrear no dia marcado.
Os alemães são recebidos no cais com todas as pompas, com direito a suásticas e hinos ufanistas. O embaixador da Alemanha, Karl Ritter, Lourival Fontes e Filinto Müller esperam que a vinda dos artistas alemães amaine os conflitos diplomáticos surgidos entre os dois países depois que Vargas, no Estado Novo, proibiu o funcionamento dos partidos políticos, inclusive o Nazista.
A companhia se hospeda na magnífica sede da embaixada, na rua Paissandu, 93, no Flamengo. Durante toda a temporada, os visitantes têm como cicerone a conselheira cultural da embaixada, Greta Süßeschlitz, uma bela ariana de tranças louras e bochechas rosadas.
Greta Süßeschlitz é afilhada do almirante Wilhelm Canaris, chefe da Abwehr. Sua posição de conselheira serve de fachada para sua verdadeira função. Greta é chefe da rede de espiões que a Abwehr pretende montar no Brasil. Mesmo pelos padrões de estética das cervejarias da Baviera, a avantajada germânica é considerada gorda. Seu físico vasto, estampado na primeira página dos jornais cariocas por ocasião da entrevista coletiva com a trupe da Ópera de Mönchengladbach, chama a atenção de Caronte. “Ah, a minha presa internacional! Acho que o momento é apropriado...”, ele pensa, recortando as fotos da gorda cuja cinta é incapaz de reprimir-lhe as banhas. “Em homenagem ao país onde tanto aprendi, terra da charcutaria, vou mudar de doce pra salgado. A marafona tinha receitas portuguesas bem adequadas”, lembra-se, referindo-se à própria mãe. “Curioso, comecei pelas sobremesas e agora passo aos pratos principais. A rameira odiaria essa inversão...” No seu refúgio na rua Elpídio Boamorte, Caronte imagina um acepipe especial enquanto executa ao piano a Sonata em si bemol de Richard Wagner, compositor que aprendera a amar nos tempos de Munique.
Além das complicações musicais de algumas óperas wagnerianas, como a necessidade de um Heldentenor — literalmente, “tenor heroico” —, em Siegfried e n’O crepúsculo dos deuses, capaz de grande potência vocal, com resistência física para cantar por mais de duas horas ininterruptas e competência para a interpretação dramática dos papéis, há as complexidades cênicas das montagens. O ouro do Reno, por exemplo, é um desafio para os cantores, para a orquestra e para os maquinistas. Com duas horas e quarenta minutos de duração sem intervalo, a ópera começa com as ninfas nadando nas profundezas do rio, onde a primeira ação é ambientada. Lá, elas se encontram com Alberich, o anão nibelungo. Depois, sem cortes na música e em cena aberta, as águas se transformam em nuvens, e a seguir numa névoa espessa. Para criar a impressão de que as ninfas estão realmente nadando, foram concebidas máquinas especiais. Tamanha é a importância dessas máquinas que, em 1876, Wagner supervisionou sua construção. A Companhia de Mönchengladbach trouxe toda a aparelhagem especial do seu acervo.
Na segunda-feira à noite, sob o comando do diretor de cena Fritz Steiner, a equipe de maquinistas brasileiros monta sem dificuldade os sofisticados aparelhos. Ao raiar do dia, Fritz e os maquinistas saem para comemorar o sucesso num botequim da Cinelândia. Numa conversa animada digna da torre de Babel, os brasileiros apresentam a nossa cachaça ao alemão. Tudo está pronto para a temporada.
Assim que Othelo Battiscopa, ex-Rodapé, deita os olhos em Greta Süßeschlitz, ambos são dominados por uma paixão fulminante. No intervalo do primeiro ensaio, a vigorosa valquíria enlaça o anão nos braços roliços e arrasta-o, semissufocado entre os seios abundantes, para uma das coxias do Municipal. Escondidos por uma tapadeira, sem se preocupar com a possibilidade de serem vistos pelo elenco ou pelos técnicos, Greta engolfa Othelo sob a saia e, ao simples contato do gnomo com suas coxas, estremece de prazer. Sente-se como Wellgunde, a mais bela das ninfas do Reno. Battiscopa, por sua vez, já se imagina agarrado àquelas tranças louras cavalgando a valquíria.
— Eu vou e você também vai! — afirma um enfurecido Mello Noronha ao resignado Valdir Calixto, na tarde de sexta-feira.
Estavam todos no gabinete do delegado quando Yolanda telefonou avisando ao marido que ele teria de acompanhá-la à estreia d’O ouro do Reno. O pior era que, durante a temporada, a companhia pretendia apresentar O anel do nibelungo inteiro!
— O bilheteiro do Municipal me disse que são quatro óperas totalizando quinze horas de música e cena interligadas na mesma narrativa! Claro que a Yolanda vai querer assistir às quatro! — desespera-se Mello Noronha.
— Ora, senhor doutor, não se desalente! Vamos todos juntos, pode ser divertido — sugere Tobias Esteves.
— Wagner, divertido? Duvido muito. A música é tão alta que nem dá pra dormir.
— É a rigor. O senhor vai ter que pagar o aluguel do meu smoking — lembra, rindo, Valdir Calixto.
O olhar do delegado congela o riso do subalterno.
— Ópera, ou a gente ama ou odeia. Não tem meio-termo. Eu adoro — declara Diana.
— Também eu — concorda Tobias Esteves, que odeia ópera mas adora Diana. — Pelo menos refrescamos as ideias sobre os assassinatos.
— Quanto a mim, vou passar o fim de semana relaxando. Não quero ver gorda na minha frente. Nem viva nem morta — desabafa o delegado. — Domingo, vou às Laranjeiras ver meu Fluminense jogar. Amanhã, vou ao Jockey Club, porque um bookmaker que me deve alguns favores me deu uma barbada imperdível no terceiro páreo: Patuska. Diz ele que é pule de cinquenta.
Diana e Esteves perguntam-se que favores seriam esses.
— Eu estou de plantão na delegacia, doutor. A não ser que o senhor precise de mim — informa Calixto, numa súplica.
— Preciso.
Todos se despedem, deixando Mello Noronha a imaginar como a vida seria doce se a sua bela Yolanda fosse surda.
No sábado, o detective Tobias Esteves leva Diana para conhecer a primeira loja criada pelo seu tio. A pequena casa, onde a fortuna de Esteves começou antes dele expandir os negócios, é um primor de arquitetura art nouveau. Não está mais aberta ao público, Esteves a preserva como a uma relíquia e usa apenas a parte dos fundos como seu escritório particular. Localizada em frente ao Mercado das Flores, na rua General Polidoro, em Botafogo, a casa ostenta uma decoração que segue o estilo da fachada, com azulejos vindos de Portugal e vitrais de flores coloridas. Sobre o balcão de mármore rajado, Esteves conservou as vitrines arredondadas de cristal. Um espelho bisotado cobre toda a extensão da parede dos fundos. Um lustre de bronze e pâte de verre rosa pende do teto, bem no centro da loja. Duas mesinhas de ferro forjado, com tampo de mármore branco e cadeiras Thonet, ocupam as laterais da sala. Eram usadas por alguns fregueses antigos do tio, que vinham, no final do dia, tomar um cálice de vinho do Porto. O chão quadriculado em branco e coral lembra um imenso tabuleiro de xadrez.
Um ar saudosista surge no olhar de Tobias quando ele se recorda da família:
— A paixão pela culinária começou com minha bisavó, Luizinha Esteves, do Algarve. Era mestra em doces e salgados. Mesmo com as receitas mais misteriosas, bastava que provasse um bocadito de doce ou de salgado, que, pelo gosto, ela decifrava-lhe os segredos. Acho que herdei dela a minha vocação de detective. — Esteves faz uma pausa relembrando a história que ouviu do pai, quando criança. — Sabes, ela processou o governo britânico, pois alegava que era dela a fórmula do Bolo Inglês.
— E o resultado?
— Perdeu.
— Quanto ela queria?
— Nada. Só queria que trocassem o nome de Bolo Inglês pra Bolo Português.
Diana disfarça, mudando de assunto:
— Como se chamam os doces e os salgados portugueses mais famosos?
— A quantidade é imensa. Receio que a menina já foi apresentada a alguns deles em circunstâncias pouco favoráveis... — diz Esteves, recordando o triste destino das gordas.
— Foi mal — concorda Diana, consciente da gafe cometida. — E os pratos mais gostosos? A cozinha portuguesa não é só feita de bacalhau.
— Claro que não, temos o Borrego à Camponesa, Orelhas de Porco, Perna de Carneiro com Poejo, Leitão à Bairrada... A nossa salsicharia é quase tão grande quanto a alemã, tem Chouriço de Carne, Chouriço de Sangue, Farinheira Branca, Alheira de Mirandela; nas canjas quentes, o saboroso Caldo de Beldroegas, a Sopa de Grelos...
— Esse prato é melhor você não mencionar. Grelo aqui não são brotos, é outra coisa — explica Diana, segurando o riso.
— Sei muito bem o que quer dizer, estava só a caçoar — responde Tobias Esteves, também rindo.
— Falando sério, qual é o seu prato português favorito?
— É um prato que, quando como, quase ponho-me a chorar. Lembra-me de uma poesia do meu querido amigo, e grande poeta, Fernando Pessoa. Estava ao pé dele, junto com Almada-Negreiros, quando o leu pela primeira vez, no café A Brazileira, no Chiado. Chama-se “Dobrada à moda do Porto”.
Com os olhos marejados, Tobias Esteves segura as mãos de Diana, sem se dar conta, e começa a dizer os versos do poema:
— Um dia, num restaurante, fora do espaço e do tempo...
O tempo e o espaço mudaram. Agora, na Elpídio Boamorte, embaixo da linha do trem, é Caronte quem continua a dizer a poesia de Álvaro de Campos, um dos heterônimos de Pessoa:
— ... Serviram-me o amor como dobrada fria...
O corpo nu de Greta Süßeschlitz alastra-se na mesa de metal do assassino. Presa às correias de couro, a alemã mal consegue mexer a cabeça. Estacionado na rua Paissandu, do lado oposto ao da embaixada, Caronte a havia atraído para o furgão funerário transformado, agora com prateleiras recheadas de amostras de salsichas. Conhecia bem a “freguesa”, das suas caçadas pelo centro da cidade. Era noite e Greta saíra satisfeita do Municipal antes do final dos ensaios, que seguiriam madrugada adentro.
Ele prossegue, ao cozinhar as tripas num imenso caldeirão:
— Disse delicadamente ao missionário da cozinha
Que a preferia quente,
Que a dobrada (e era à moda do Porto) nunca se come
[ fria ]
Impacientaram-se comigo!...
No fim do verso, Caronte esmurra violentamente a mesa.
— Por quê?! Por que a vaca sempre se impacientava comigo?! — Numa alucinação raivosa, ele confunde a alemã com a mãe. — Warumw, Mutti?! Warum, Mutti liebchen?!
Caronte declama cada vez mais alto. Receita e poesia terminam ao mesmo tempo:
— Nunca se pode comer frio, mas veio frio.
Está pronta a última ceia de Greta Süßeschlitz.
O Theatro Municipal, na Cinelândia, foi inaugurado em 1909 pelo prefeito Pereira Passos. O teatro fica próximo à Biblioteca Nacional e ao Museu Nacional de Belas Artes. Construído com materiais nobres, como mármore de Carrara, bronzes, ônix e espelhos importados, decorado com esculturas e pinturas de artistas plásticos consagrados, é, sem dúvida, um dos mais suntuosos do mundo. Seus arquitetos inspiraram-se, obviamente, na belíssima Ópera de Paris.
No início, o Municipal era apenas um lindo teatro que recebia companhias estrangeiras, a maioria vinda da Itália e da França, porém, a partir de 1930, passou a ter seus próprios corpos artísticos: cantores, orquestra, coro e balé.
Em seu palco, equipado com o que havia de mais moderno, exibiram-se estrelas internacionais como Isadora Duncan, Anna Pavlova, Nijinsky e Richard Strauss.
No entanto, nada foi cercado de maior divulgação do que a vinda da Companhia de Ópera de Mönchengladbach. O Departamento de Propaganda e Difusão Cultural obrigou, anonimamente, a diretoria do Municipal a cancelar um concerto do pianista polonês Stanislaw Niedzielski marcado para o mesmo dia. Um dos diretores do teatro argumentou que o cancelamento poderia criar um incidente diplomático com a Polônia. “Entre a Polônia e a Alemanha, fico com a Alemanha”, contra-argumentou o pragmático Lourival Fontes. Conhecia bem o desprezo do Führer pelos poloneses. A diretoria do teatro teve de fazer milagres a fim de reorganizar a programação, já que tinha anunciado para a temporada, entre outras óperas, Les contes d’Hoffmann, de Offenbach, Pelléas et Mélisande, de Debussy, e a inédita, no Rio, La Monacella della Fontana, de Giuseppe Mulè. Sem falar na ciumeira criada pelo baixo Albino Marone, internacionalmente famoso pelo seu Mefistofele, de Arrigo Boito, que não via com bons olhos o anão usurpador de um papel que seria seu.
Desde a temperatura amena e o céu estrelado da segunda-feira à noite, tudo indica que a estreia fará um sucesso estrondoso. O luxuoso salão Assyrio, no andar inferior do teatro, está lotado pelo grand monde do Rio de Janeiro. Políticos, militares, artistas e intelectuais confraternizam emborcando o champanhe francês Dom Pérignon, 1921, oferecido pelo embaixador alemão Karl Ritter. É a primeira safra do vinho, que só foi posto à venda quinze anos depois. Seu buquê especial mescla sândalo, praliné e baunilha. Ritter trouxe da sua adega particular as caixas para o coquetel.
Ao lado de Noronha, a bela Yolanda atrai os olhares dos homens do salão. Está magnífica, num vestido de cetim de seda, ombro único, verde-turmalina, da mesma cor dos seus olhos, contrastando com seus cabelos negros. O longo parece ser original da haute couture francesa; na verdade, é cópia de um Robert Piguet, célebre costureiro francês, tirada da revista A Cigarra, pela sua talentosa costureira Ritinha do Grajaú. As lindas costas desnudadas pelo modelo não preocupam Mello Noronha, no seu smoking amarrotado, com cheiro de naftalina. Seguro de si, há muito tempo deixou de ter ciúmes da mulher. Todos se perguntam quem é aquele homem amarfanhado de braço com aquela mulher fascinante. “Deve ser um milionário excêntrico”, conclui um general invejoso, a farda de gala coberta de medalhas sem guerras.
Diana, como sempre, traja um sóbrio Chanel, e Tobias Esteves aperta-se num dinner jacket. Há quinze quilos que não o veste. O mais elegante dos três homens é Valdir Calixto, envergando uma impecável casaca inglesa alugada às custas da delegacia.
Nos bastidores do palco, Othelo Battiscopa, tenso, rói as unhas até o sabugo. A ansiedade nada tem a ver com a apresentação. Ele passou e repassou as árias com firmeza absoluta. O motivo da aflição nada tem a ver com o bel canto; faltam apenas cinco minutos para a cortina subir, e sua amada Greta não aparece.
Escuta-se o primeiro sinal chamando o público para a sala de espetáculos. O luxo do salão rivaliza com o foyer do teatro, em estilo Luís xvi. As quatrocentas poltronas da plateia, estofadas em veludo vinho, as vinte frisas, os balcões, as galerias e os camarotes totalizam mais de dois mil lugares, nesta noite todos eles tomados. Não há como ignorar o imenso lustre em bronze dourado com mangas e pingentes de cristal. Na sua condição de delegado especial adjunto ao palácio Central da Polícia, Mello Noronha teve direito a uma frisa localizada próxima ao palco. Nem o fato de estar ao lado de duas lindas mulheres desfaz-lhe a carranca. Tobias Esteves também parece apreensivo, seu instinto de policial sente algo de estranho no ar. O único totalmente à vontade é o garboso Calixto, um cravo branco na lapela, de pé atrás dos quatro para não amassar a casaca.
A convite de Getúlio, ausente ao evento, o embaixador Karl Ritter senta-se no camarote do presidente da República. Ele é ladeado pelo temido chefe de polícia do Distrito Federal, capitão Filinto Müller, e por Lourival Fontes, diretor do Departamento Nacional de Propaganda e Difusão Cultural.
Segundo sinal. Silêncio de expectativa. Para Noronha, a campainha é o arauto de duas horas e quarenta minutos de tortura.
O zarolho Lourival Fontes não tira um dos seus olhos da deslumbrante mulher que ocupa o camarote à sua esquerda. Está acompanhada do grande Portinari e do ministro da Educação, Gustavo Capanema. Trata-se da poetisa Adalgisa Nery, viúva do pintor Ismael Nery. Além da beleza, Adalgisa sobressai pela personalidade vivaz. De repente, ri alto de alguma coisa que o ministro lhe diz. Lourival pede emprestado o pequeno binóculo do embaixador e, colando o olho torto numa das lentes, lança a vista cobiçosa sobre a poetisa.
Na coxia, paramentado de gnomo nibelungo, o coraçãozinho esmagado dentro do peito de pombo, Battiscopa sabe que não podem mais esperar por Greta Süßeschlitz. Soa o terceiro sinal. Othelo Battiscopa esconde-se atrás de uma das rochas do fundo do rio, colocada no proscênio, junto à ribalta. É de lá que o baixo entoará os primeiros versos para a consagração universal:
Oh, ninfas!
Como me parecem lindas!
Desejáveis criaturas!
Venho
Da terra dos nibelungos!
Das profundezas sem fim!
Posso ir até vocês,
Se vierem até mim!...
As três ninfas irmãs tomam posição na parte superior do espaço cênico e começam a ondear os braços, como se nadassem nas águas do Reno. O maestro Wolfgang von Hasslocher ataca as primeiras notas da ópera. Sobre a cortina fechada, focos de luz em movimento simulam a correnteza do rio.
A obra inicia com um prelúdio de cento e trinta e seis compassos representando o fluxo eterno do rio. Dura cerca de quatro minutos. Em sua autobiografia, Wagner menciona que a ideia surgiu quando estava sonolento num quarto de hotel, na Itália. Não esclarece se o prelúdio despertou-o ou fê-lo dormir de vez. Após os quatro minutos, a cortina sobe com vagar, e as ninfas Woglinde, Wellgunde e Flosshilde cantam alegremente.
Súbito, as irmãs ficam mudas em cena. Battiscopa não entende por que as três ninfas pararam de cantar. Ao mesmo tempo, o maestro interrompe a música. Em uníssono, vem da sala um pavoroso grito de terror. Devido à sua pequenez, Othelo é o último a ver o motivo do berro incontrolável da plateia. Ele segue o olhar horrorizado dos músicos, maestro, maquinistas, contrarregras, cantores e plateia em direção ao urdimento. Servindo de contrapeso para alçar o pano de boca, desce o corpo nu, enrolado em linguiças, de Greta Süßeschlitz.
O cadáver sem olhos balança na extremidade da corda, como um pêndulo grotesco de um relógio invisível. Enfiado na cabeça, vê-se um capacete com chifres igual ao elmo das valquírias, toque de humor macabro do assassino. As tranças louras se entrelaçam com salsichas vienenses. Da sua boca escancarada escorrem restos de tripas, ou, como prefere o poeta, dobradas à moda do Porto.
Não resistindo à perda do segundo grande amor de sua vida nas mãos do mesmo maníaco homicida, o homúnculo, cego de dor, atira-se de cabeça no fosso da orquestra e morre entalado na campânula da tuba.
Instala-se o pânico no Municipal. Largando estolas, binóculos e programas, o público voa pelos dois lances da famosa escadaria, correndo em atropelo para os portões de saída. Duas senhoras de idade estatelam-se no chão, quase esmagadas pelo estouro da cavalgada humana que foge para a Cinelândia. O tropel transforma O ouro do Reno de tragédia épica em tragédia hípica.
Embora tenham escapado ilesas da avalanche, as idosas, que eram assíduas frequentadoras das temporadas líricas, fazem ali mesmo o pacto de nunca mais sair de casa. Ópera, só na vitrola.
Prático, Mello Noronha salta da frisa para a plateia seguido do atlético Calixto e corre para o palco. Grita ao cortineiro que desça o pano de boca para poderem retirar do urdimento a vítima atada às cordas do contrapeso. O homem obedece, pálido, saindo da letargia em que se encontrava. Em vinte anos de teatro, jamais assistiu a semelhante grand-guignol. Assim que as mãos trêmulas do cortineiro começam a baixar a cortina, Noronha ordena a Calixto que suba ao urdimento para resgatar o corpo.
— Desculpe, doutor Noronha, mas isso eu não faço nem pela minha mãe. O senhor sobe lá e pega a moça, que eu fico tomando conta aqui embaixo.
Mello Noronha hesita, calculando a altura do palco e o peso da alemã.
— Sozinho, eu não consigo. Faz o seguinte, vai buscar dois dos guarda-costas da Polícia Especial que fazem a segurança do Filinto. Manda um motorista da Central levar dona Yolanda e dona Diana pra casa — ele ordena, apontando para as duas, que acabam de entrar na plateia acompanhadas por Esteves.
— Sou jornalista e não vou pra casa tão cedo — declara Diana, olhando a carcaça pendente.
— Eu sou português e também fico — afirma Tobias Esteves.
— E eu vou vomitar — anuncia a bela Yolanda, do fundo da sala, hipnotizada pelo quadro dantesco armado no palco do Theatro Municipal.
— Tranca-se a porta depois da casa arrombada — comenta Noronha, ao ser informado de que Filinto deu ordens para que um batalhão da Polícia Especial fechasse todas as saídas e examinasse os documentos da pequena parcela do público que não havia conseguido escapulir. Os “quepes vermelhos” executaram a rotina inútil.
Sentados no banco traseiro da limusine Mercedes-Benz da embaixada, Lourival Fontes e Filinto Müller desculpam-se junto ao embaixador alemão pelo “pequeno desconforto causado na estreia”, no dizer de Lourival. Karl Ritter está enlouquecido de raiva. A morte da alemã nada faz para melhorar as relações delicadas entre os dois países, tensas desde que o Partido Nazista foi proibido no Brasil. Além de furioso, Ritter teme uma violenta represália pessoal:
— Quando o meu Führer souber do assassinato humilhante da minha funcionária, afilhada do almirante Canaris, e, o que é pior, quando ele souber que o crime aconteceu durante a apresentação da sua ópera preferida, vai me mandar ser embaixador no campo!
Lourival procura consolá-lo:
— Não se amofine, Excelência, eu também prefiro a cidade, mas a vida no campo é mais saudável.
— Lourival, o embaixador está se referindo aos campos de concentração... — explica, embaraçado, Filinto Müller, que conhece bem o assunto.
— Talvez haja uma declaração de guerra!
— Calma, pra tudo tem saída — afirma Lourival, homem das maquinações criativas. — O meu departamento pode divulgar pela imprensa que se trata de um complô comunista.
— Ninguém vai engolir essa história — dispara, ríspido, Filinto, tentando a tarefa impossível de encarar ao mesmo tempo os dois olhos de Lourival. — Todos que estavam no teatro ouviram falar do Caso das Esganadas. A vítima é um exemplo claro. O senhor pode garantir ao ministro Ribbentrop que não foi um atentado ao Reich. O nosso melhor delegado, com o auxílio de um famoso detetive português, está no encalço desse assassino louco. A prisão do mentecapto é iminente — bazofia o chefe de polícia.
O rabecão do Instituto Médico-Legal já levou os corpos de Greta Süßeschlitz e de Othelo Battiscopa, este ainda encravado na tuba. Foi em vão o esforço dos atendentes do iml para desentalar o anão do instrumento. Músicos, técnicos e elenco saíram apressadamente do teatro. Traumatizados, os cantores nem retiraram a pesada maquiagem que usavam na ópera.
Noronha e Esteves dão uma busca na cena do crime. Têm uma vaga esperança de encontrar o assassino escondido no urdimento, nos camarins ou no alçapão do palco. A procura é inútil. Interrogam o vigia da noite, o porteiro e a equipe encarregada de cuidar dos bastidores: maquinistas, carpinteiros, contrarregras e o diretor de palco. Nenhum resultado. Diana fotografa todos os detalhes com a Leica 250, que traz na bolsa.
Não fazem a menor ideia de como o insano homicida conseguiu ter acesso aos bastidores do teatro, carregando os despojos monumentais da pobre rapariga. O enigma parece insolúvel até mesmo para o detective Tobias Esteves, exímio decifrador de charadas inextricáveis.
Em sua residência, uma mansão na rua Real Grandeza, anexa à funerária, o solitário Caronte pensa no desespero da polícia procurando descobrir como ele transportou a gorda para o Municipal sem que ninguém percebesse. “Nem Houdini! Nem Houdini!”, vangloria-se o matador.
Desta vez, ele não se aplica a solução costumeira de alucinógenos. Para celebrar a carnagem, fuma um cigarro de cocaína. Inalada, a droga produz efeito igual ao causado pela aplicação endovenosa, sem o inconveniente da agulha e da seringa. A reação provocada pela cocaína é intensa. Rindo, Caronte acende o segundo cigarro. Sua gargalhada néscia de drogado ressoa pelo casarão vazio.
A bem da verdade, ninguém poderia imaginar o óbvio. Dois anos antes, Caronte realizara o sonho secreto de fazer parte da orquestra do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Vencera com brilho o concurso para preencher a vaga aberta na seção de contrabaixos.
Na véspera do espetáculo, foi fácil passar despercebido pela portaria dos fundos arrastando, sobre rodas, a gorda espremida no estojo do instrumento. Depois, usou as roldanas do palco para içar o corpo até o urdimento.
No dia seguinte, voltou para a estreia de gala, integrando a Sinfônica. Quando a cortina subiu e a gorda desceu, Caronte teve orgasmos múltiplos ao ver sua obra exibida diante do público, em pleno palco do Theatro Municipal.
Ele gosta do contrabaixo. Ensaia à noite, na Elpídio Boamorte, nas sombras do antigo matadouro. Sempre que o coloca entre as pernas esquálidas, lembra-se da mãe e golpeia com vigor as cordas com o arco, como se a chibateasse. Ser um dos contrabaixistas da Sinfônica era o seu segredo mais bem guardado. Jamais os colegas da orquestra acreditariam que aqueles dedos ágeis e delicados no pizzicato pertenciam às mãos que esganavam as gordas.
O efeito euforizante da droga se esgota, e o riso alucinado transforma-se em apatia. Ele enxerga apalermado sua magra silhueta refletida no contrabaixo. Num surto paranoico, vê-se distorcido na madeira envernizada. É a imagem de um Caronte gordo, enorme, vasto, colossal, desmensurável. Ele despenca em prantos no chão, agarrado ao instrumento como se estivesse abraçando a própria mãe.
“O céu plúmbeo de inverno que cobre a Guanabara, presságio do temporal que se aproxima, acoberta outra borrasca, esta sem bonança”, profetiza, solene, Rodolpho d’Alencastro, o oráculo das ondas médias. “Devastado pelo pesar, o locutor que vos fala através da prg-3, Tupi do Rio, transmite, diretamente do cemitério São João Batista, o derradeiro cortejo que transportará ao mausoléu os despojos mortais de Greta Süßeschlitz e Othelo Battiscopa, mais conhecido nos meios circenses como o palhaço Rodapé. O ananicado artista deu fim à própria vida ao ver a Greta tanto amada sucumbir nas mãos do pérfido psicopata que ronda nossas ruas.
“Nestes momentos horripilantes de tensão, ao presumir que o assassino pode atacar outra jovem obesa em qualquer ponto da cidade, nada melhor para acalmar os nervos do que fumar um bom cigarro enrolado em seda Zig-Zag. Zig-Zag é o melhor papel francês para cigarros. Fumadores!, exijam em todas as lojas de tabaco o Zig-Zag, a primeira marca do mundo.”
Para gáudio de Caronte, as exéquias ficam a cargo da sua empresa. O fato não o surpreende, já que sua funerária é a melhor da América do Sul. Houve até um argentino que pediu, em testamento, para ser enterrado no Rio, devido à fama internacional dos serviços da Estige.
Além de fazer uso do bálsamo aromático composto de plantas, resinas e óleos, receita secreta inventada por seu pai para o trato dos defuntos, Caronte é criativo nos ritos fúnebres. Transforma simples funerais em espetáculos de luxo e originalidade. No caso específico, concebeu um caixão para que Othelo Battiscopa permanecesse dentro da tuba. Apesar das dimensões do instrumento, o esquife do anão “entubado” era bem menor do que a arca pagã da mitologia nórdica, encomenda da embaixada alemã.
Os amantes são inumados ao mesmo tempo. É inevitável a comparação entre os dois caixões. Presentes à cerimônia, cantores e artistas de circo de um lado, oficiais e autoridades alemãs do outro. A monumental germânica é levada à sua última morada com honras de Estado. O embaixador Ritter lê uma mensagem do Führer concedendo a Greta Süßeschlitz a Grosskreuz des Deutschen Adlerordens, “Grã-Cruz da Águia Alemã”, a título póstumo. A medalha é a maior honraria concedida a membros de corpos diplomáticos. Entre os poucos alemães merecedores da distinção, está o próprio ministro das Relações Exteriores, Joachim von Ribbentrop. Dos brasileiros que compareceram à solenidade, o único que leva a sério a homenagem é Lourival Fontes, a quem chamam, em surdina, pelo apelido de Um Olho no Padre.
Assistindo ao enterro duplo de Greta Süßeschlitz e Othelo Battiscopa na esperança de surpreender o assassino, o delegado Mello Noronha revela não compreender como um homem tão pequenino podia ser dotado de uma voz tão especial. Esteves relata, devaneando:
— No final da Idade Média, o papa Benedito xi quis empregar o extraordinário pintor Giotto di Bondone. Mandou um emissário a Florença pra verificar como eram suas obras e se Giotto era tão genial quanto diziam. O mensageiro pediu ao pintor um trabalho pra mostrar ao papa, como prova da sua genialidade. Giotto pegou um papel, um carvão e, num movimento rápido à mão livre, traçou um círculo perfeito. Diante da perplexidade do emissário, Giotto tranquilizou-o: “Leve o desenho ao papa que ele vai entender”.
— O que é que essa história tem a ver com Battiscopa? — pergunta Noronha, curioso.
— Giotto também era anão. Talento não escolhe tamanho — declara Tobias Esteves.
Os quatro fazem uma pausa reflexiva. Calixto rompe o silêncio, repetindo o que todos já sabem:
— Parece que, quando os dois se encontraram logo no primeiro ensaio, foi amor à primeira vista.
— É verdade — concorda Tobias Esteves. — Um verdadeiro coup de foudre.
Calixto olha acanhado para Diana e diz em tom de reprimenda:
— Bom, seu Tobias, esse detalhe sobre sexo anal eu desconhecia.
A firme insistência do delegado Mello Noronha com Filinto Müller faz com que o embaixador Karl Ritter, depois de muito negar, permita que a Polícia Técnica, sob a chefia do cientista forense Aloísio Pelegrino, único do departamento com curso de especialização no Laboratório Científico de Detecção de Crimes do fbi, nos Estados Unidos, examine o quarto da alemã.
Mesmo assim, a busca acontece sob o olhar vigilante de um funcionário mal-encarado, Hans Sauckel, sem dúvida da Gestapo. Em todas as delegações alemãs do mundo havia desses sicários ligados ao setor “cultural” das embaixadas. Pelo menos era o que constava nos seus passaportes. A ironia maior é que o marechal Hermann Goering proclamara numa convenção do partido: “Toda vez que escuto falar em cultura, pego a minha Luger”.
O quarto de Greta Süßeschlitz era um verdadeiro sacrário nazista. Na parede, fotografias do documentário O triunfo da vontade, de Leni Riefenstahl, sobre o congresso do partido em 34. Diana registra tudo com a sua câmera. Acima da cama, um imenso retrato a óleo do Führer Adolf Hitler, mãos na cintura, enfeita o dossel como o anjo da morte. Os olhos azuis do facínora não suavizam a dureza do rosto. A colcha, presente do “tio Rudolf”, como Greta chamava carinhosamente Rudolf Hess, secretário de Hitler, tem a cor e o emblema da bandeira. Até a estamparia do enorme pijama tipo “coelhinho” dobrado sobre um dos travesseiros é feita com centenas de pequeninas suásticas.
O alemão, suando em bicas no seu pesado casaco de couro talhado para o frio prussiano, apressa os peritos da Polícia Técnica.
— Schnell! Macht Schnell! Rasch! Husch! — grita Hans Sauckel.
O berro de Hans leva o velho técnico Mangabeira, baiano de Juazeiro há anos na Forense, a ralentar ainda mais a peritagem:
— Na minha terra a gente tem um adágio: “O apressado come cru”, seu Ramos.
— Non é Ramos! É Hans! Hans! — vocifera, apoplético, o alemão.
— Cuidado, seu Ramos, assim o senhor vai ter uma congestão raivosa que pode lhe dar uma trombose da boca torta...
Alheio ao debate entre o fanatismo huno e a sabedoria nordestina, Tobias Esteves senta-se no confortável leito em forma de nave viking. Ao ajeitar os travesseiros, descobre um caderno com uma refinada capa de couro entalhado. Destaca-se a famigerada suástica e o título em letras douradas: mein tagebuch
— Doutor Noronha, acho que isso pode interessar-lhe — diz Esteves, folheando o livro negro.
Noronha senta-se ao seu lado.
— Do que se trata?
— É o diário da menina Greta.
— Você fala alemão?
— Como qualquer filósofo que se preze formado em Coimbra. Grego clássico, só leio.
O português não cessa de assombrar Noronha.
— O que tem anotado aí que possa nos ajudar? — pergunta o delegado, querendo arrancar o diário das mãos de Tobias.
— Várias informações sobre uma rede de espionagem a ser formada no Brasil, a começar pelo sul do país. Pontos de desembarque clandestinos para submarinos no litoral brasileiro, em Santa Catarina. Nomes de simpatizantes em Blumenau que poderiam formar a base da “quinta-coluna”. Em alguns dias ela anota que sente-se seguida por um vulto e desconsidera os episódios. Imagina que seu seguidor pertença ao serviço de contraespionagem brasileiro.
— Serviço de contraespionagem? Eu pensei que o governo fosse a favor... Tobias, isso é matéria que interessa ao serviço secreto do Ministério da Guerra. Vou mandar o Calixto sair com esse calhamaço escondido nas calças. O que eu quero saber são detalhes íntimos da gorda que possam nos ajudar.
Tobias Esteves procura anotações corriqueiras sobre o cotidiano da gorda:
— Nada de especial. Senão vejamos: “Quinta-feira, 24 de março. Fui ao centro comprar mais pílulas. Voltei e ordenei à cozinheira que preparasse um prato de Kartoffelklösse para o jantar”.
— O quê?!
— São bolos de batata. Uma delícia.
— Vá em frente.
— “Sexta-feira, 25 de março. Hoje, vou comer uma Pfefferpotthast no almoço e, no jantar, uma coisa mais leve: Schweineschnitzel com Bananastrudel de sobremesa. Sábado, 26 de março. Acordei um pouco nauseada. Acho que foi uma fatia de maçã assada que comi antes de dormir.”
Noronha arranca, irritado, o caderno das mãos de Tobias.
— Isso não é diário, é um livro de receitas!
— E as tais pílulas? — pergunta Esteves.
— Sei lá, devem ser cápsulas de cianureto. Coisa de espião — responde, ansioso, Mello Noronha, indo para as últimas página do diário.
A partir do encontro com Othelo Battiscopa, as folhas são preenchidas com vários desenhos de corações entrelaçados com suásticas cor-de-rosa. A única entrada legível data de terça-feira, 5 de julho:
— “Enfim encontrei o grande amor da minha vida! Othelo Battiscopa! Mein Schatzi! Z Liebst!... Schatz! Liebst du mich? Eu te amo! Você me ama?”
Essa patética declaração de amor era repetida, sem alterações, por diversas páginas. Obnubilada pela paixão, Greta Süßeschlitz, formada em literatura alemã na Universidade de Heidelberg, perdera a capacidade de se expressar com clareza.
O resto da busca efetuada pela equipe da Polícia Científica nada encontrou de significativo. No armário do banheiro, vários frascos vazios e um pela metade, com rótulos que indicavam tratar-se de uma mescla de ervas da Amazônia com outras de florestas menos notáveis. Enfim, a miscelânea que se acha habitualmente na farmacopeia. Por via das dúvidas, Aloísio Pelegrino leva os frascos e as cápsulas para o laboratório, a fim de certificar-se de que o conteúdo corresponde às etiquetas.
Noronha chama o rígido Calixto, que a tudo observa da soleira da porta. Entrega-lhe o diário enrolado.
— Calixto, temos que levar esse documento daqui sem que os alemães percebam. Diz respeito à segurança nacional. Enfia ele no bolso da calça assim como está.
O relutante Calixto recolhe a maçaroca.
— É melhor o senhor ir na frente, e o seu Esteves logo atrás de mim. O alemão parrudo pode pensar que o volume do bolso é outra coisa. Desde que eu cheguei que ele me olha sorrindo. Não sei não, doutor Noronha, mas eu acho que o gringo é fanchão — declara Calixto, usando um vocábulo pouco vernacular.
Uma atmosfera geral de desalento abate-se sobre os quatro amigos espalhados no gabinete do delegado Mello Noronha. Como era de esperar, nada de revelador surge no relatório no 7 do Caso das Esganadas. Nenhum ponto em comum com as outras seis, a não ser, é claro, o fato de todas serem gordas. Somente as obesas despertam o interesse do psicopata. A segunda autópsia, efetuada pelo doutor Gregor Becker, das ss, médico pessoal de Goering, vindo às pressas no avião particular do Führer, apresentou a mesma conclusão a que chegara o intragável legista brasileiro Ignacio Varejão:
“Petéquias na conjuntiva indicam, mais uma vez, morte por asfixia. Acredita-se que resultem do aumento da pressão venosa na cabeça e do dano ao endotélio, resultante de hipóxia. Lesões em várias partes do corpo, produzidas na vítima agonizante, provavelmente numa tentativa de comprimir o corpo em algum recipiente. Manchas com aparência de líquido seminal espalham-se pela face externa da coxa direita. Como nos casos precedentes, há sinais do uso de anestésico na subjugação da vítima. Os globos oculares foram enucleados.”
— O mais irritante é a falta de impressões digitais em todos os lugares por onde ele passou — desabafa Mello Noronha.
Para o delegado, era uma ironia não poder se beneficiar de todos os novos recursos de identificação agora à disposição dos órgãos de segurança.
— Sei lá, doutor Mello, vai ver que o homem não tem impressão pra deixar — sugere o ingênuo Calixto.
— Impossível! — A réplica fulminante de Noronha vem acompanhada de uma verdadeira dissertação sobre datiloscopia, sua defesa de tese na Escola de Polícia. — É a primeira coisa que se aprende. Desde que Alphonse Bertillon, em 1879, e Francis Galton, em 1892, pensaram num processo de identificação pelas marcas deixadas pelos dedos, alegando a impossibilidade de que duas pessoas, mesmo gêmeas, tivessem impressões iguais, vários criminosos foram condenados devido ao método. O primeiro caso ocorreu aqui ao lado, na Argentina, em 1892. O chefe de polícia de Buenos Aires, Juan Vucetich, associou as impressões digitais ao sistema de antropometria fotográfica criado por Bertillon e estabeleceu o primeiro arquivo organizado de identificação-padrão.
— Pois é verdade — contribui Esteves, que conhece bem o caso.
O assunto desperta o interesse jornalístico de Diana.
— Boa matéria pra minha revista.
— No mesmo ano — continua o delegado — Francisca Rojas, da cidade de Necochea, foi encontrada, com machucaduras no pescoço, numa casa com seus dois filhos menores degolados. Francisca acusou um vizinho, que, mesmo sob violento interrogatório, não confessou o massacre. O inspetor Alvarez, colega de Vucetich, encontrou, na cena do crime, a impressão de um polegar sangrento na porta da casa. A marca era idêntica à do polegar de Francisca. Quando interrogada novamente, a mulher confessou ter matado os filhos.
— Os próprios filhos? — pergunta o horrorizado Calixto, que traz, junto ao coração, a fotografia de sua mãe.
— Exatamente. Mas, como se deu na Argentina, o crime foi noticiado apenas nos jornais de Buenos Aires. O primeiro julgamento a pôr em evidência a importância dessa nova forma de identificação aconteceu no Caso Scheffer, em 1902, quando Alphonse Bertillon conseguiu a condenação do assassino pelas impressões colhidas meses antes, na ocasião em que Scheffer havia sido detido por uma pequena infração. O processo continua a ajudar a polícia. Isso porque, se há uma certeza na medicina forense, é a de que todo mundo tem impressões digitais e nenhuma é igual a outra — termina Noronha. E berra, mais uma vez, para Calixto: — É impossível alguém não ter as marcas nos dedos. Entendeu? Impossível!
Calixto cala-se, ensimesmado.
No gabinete, a depressão é densa como o fog londrino. O mutismo é quebrado pelo sotaque carregado de Tobias Esteves. O detective levanta-se, põe a mão no ombro de Calixto e cita Shakespeare:
— “Há mais mistérios entre o céu e a terra, Horácio, do que sonha a vossa vã filosofia.”
— Meu nome é Valdir, seu Esteves — lembra Calixto, achando que o português perdeu a razão.
— Sei-o bem, querido Calixto, sei-o bem. Estava a me referir ao verso de Shakespeare ao seu amigo Horácio quando Hamlet vê o fantasma do pai.
— Entendi — afirma Calixto, mentindo.
Noronha, que odeia esse tipo de divagação, fecha ainda mais a carranca.
— E o que é que o fantasma do pai do Hamlet tem a ver com esta história?
— Nada, senhor doutor delegado. É que, quando surge-me um problema tão inexplicável, vem-me logo à mente o que já disse-lhe antes: o Princípio da Parcimônia... a Navalha de Ockham.
— Sei, sei, o tal frade filósofo da Idade Média. Mas como é que isso pode nos ajudar? — pergunta Mello Noronha, mais impaciente ainda.
— Pode nos ajudar porque a chamada “navalha” corta fora qualquer informação que não seja estritamente necessária à explicação dos fatos. É simples. “Se em tudo o mais as várias explicações de um fenômeno forem idênticas, a mais simples é a melhor.”
— Desculpe, seu Esteves, mas, se envolve navalha, estou fora. Odeio arma branca — confessa Calixto, encolhendo-se na poltrona.
— Calma, é só um velho axioma muito usado por Sherlock Holmes nas suas aventuras: “Quando se elimina o impossível, o que resta, por mais improvável que pareça, tem de ser a verdade”.
— O que é que você está dizendo?
— Estou a dizer que o nosso Calixto tem razão. O assassino não deixa impressões porque não as tem. Resta saber como ou por quê. — Ele cumprimenta Valdir: — Parabéns, meu amigo.
Valdir Calixto sente-se a pessoa mais importante da sala e agradece, acanhado:
— Obrigado, seu Esteves. Puxa, eu sou filósofo e não sabia.
Sábado, 16 de julho. Há três dias, a chuva incessante forma pequenos córregos pelos corredores traçados entre os túmulos do cemitério São João Batista. Caronte observa da janela dos fundos da funerária. Depois, examina no espelho os fios remanescentes dos seus cabelos. “Poucos, muito poucos”, pensa. A maquiagem aplicada para cobrir as nódoas escuras que lhe maculam a pele quase não disfarça a deformidade. As cutículas sangram pelas unhas finas que se desfolham como papel. A angústia invade o assassino. Nem as cerimônias fúnebres, que tanto o excitavam, conseguem dissipar-lhe o spleen. Cada vez mais, deixa tudo nas mãos do seu diretor funerário, Aristarco Pedrosa, formado em tanatopraxia e fiel a Caronte como um cão de guarda. Empedernido, de aparência cadavérica, o eficaz administrador veste sempre uma sobrecasaca preta combinando com o cargo. A fisionomia soturna de Aristarco só se transforma à noite, nos fins de semana liberais da Lapa, onde ele é conhecido como Cu de Veludo.
Para evitar os olhares curiosos dos clientes, Caronte refugia-se nos recantos escuros do casarão. Sente falta da caça; a carnificina é a sua droga. Ele sabe que a abstinência intensifica a síndrome de Nagali. A ligação patológica entre o corpo e a mente já havia sido observada no século x, pelo cientista persa Ahmed ibn Sahl al-Balkhi. Ahmed fora o primeiro a associar a saúde física à mental. No caso de Caronte, a relação é evidente. Ele precisa de outras vítimas e sabe onde encontrá-las. A colheita viçosa está logo ali, pulsando ao alcance da mão. Basta escolhê-la, oculto nos vãos sombrios do Beco dos Barbeiros.
Por mais que adore Diana, Tobias Esteves não se acostuma à velocidade que ela imprime ao seu Lagonda Drophead. Tobias também preferiria que a moça baixasse a capota do conversível, mas não tem coragem de pedir. Vai segurando com uma das mãos o feltro Borsalino enfiado na cabeça e com a outra agarra-se ao banco. Às dez horas da manhã de segunda-feira, os dois dirigem-se ao instituto Oswaldo Cruz, em Manguinhos, onde estagia o italiano Luigi Peterzani, especialista em genética humana. Aos quarenta anos, Peterzani é também formado em psicopatologia, e Diana o conhecera quando o cientista viera ao Brasil, em janeiro, para uma série de palestras a convite da Universidade do Rio de Janeiro.
Mulherengo e vaidoso, o belo romano interessou-se por Diana e concedeu-lhe uma entrevista recheada de fotos, nas quais ele fazia questão de mostrar apenas o perfil direito. “É o meu lado bom. O esquerdo fa schifo...”, afirmou, com um sorriso perolado.
Diana felicita-se por ter mantido contato com o cientista. Galanteios à parte, Peterzani tinha reputação internacional, com doutoramento em genética, epidemiologia e saúde pública pela Universidade de Massachusetts, em Boston. Era um dos sérios candidatos ao Nobel, mas apaixonara-se pelo Rio no Carnaval e estendera sua visita. Não era raro vê-lo, durante as pesquisas sobre a vacina contra a peste bubônica, cantarolando, com sotaque romanaccio, a marchinha de sucesso do ano anterior: “Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar! Dá a chupeta! Dá a chupeta! Ai! Dá a chupeta pro bebê não chorar...”.
— Ma guarda che bella ragazza! — grita Luigi Peterzani, desgrudando o olho do microscópio e levantando-se para beijar Diana. — Já sei! Nostalgia di me? — Ele usa a palavra que mais se aproxima de “saudades”.
— Nunca, você é muito perigoso... mas eu preciso da sua ajuda.
— Eu sabia, fanciulla interesseira... quem é este senhor idoso em forma de barrica di vino, seu tio?
O olhar de Esteves atravessa o crânio do italiano.
— Se me permite, não sou idoso, nem tio, nem barrica. Sou o delegado auxiliar provisório Tobias Esteves, convocado para ajudar a Central de Polícia numa importante investigação criminal. Presumo que tenha ouvido falar no Caso das Esganadas.
— Não se aborreça, delegato, foi uma pequena crise de ciúmes. Como posso ajudá-los? — pergunta Peterzani, começando a falar sério.
Esteves explica o motivo da visita:
— O que mais nos espanta em todos os crimes é a total falta de impressões digitais por onde o matador passou.
— Além das marcas deixadas pelas vítimas, a perícia só conseguiu recolher esses borrões — completa Diana, mostrando ampliações das fotos que fez.
Tobias continua:
— Em princípio, sabe-se que é impossível as pessoas não terem os desenhos nas pontas dos dedos; no entanto, o estudo da lógica e da filosofia ensinou-me que, como diz um velho ditado da minha terra: “Impossível é Deus mentir e rato fazer ninho em orelha de gato”.
O professor Luigi Peterzani impressiona-se com o fervor do português. Olha-o com renovado respeito, afasta-se da bancada e puxa da estante um pesado compêndio sobre dermatologia e genética. Corre o dedo pelo índice e abre o livro no capítulo indicado.
— Cara Diana, quero felicitar seu amigo pela persistência e pelo raciocínio perfeito. Ele tem razão, é claro.
Diana e Esteves entreolham-se, surpresos. Peterzani lê o artigo científico para os dois:
— Aqui está. Síndrome de Nagali. Também chamada de chromatophore nevus de Naegeli. Descoberta pelo dermatologista suíço Oskar Naegeli, em 1927. Forma rara de displasia ectodérmica caracterizada por uma pigmentação reticular da pele, disfunção das glândulas sudoríferas, fragilidade capilar, ausência de dentes, hiperceratose palmar e da planta dos pés. Assemelha-se à dermatopatia pigmentosa reticular.
— Não estou a entender patavina.
— Nem eu.
— O que tem a ver essa barafunda descrita no alfarrábio com o patife que pôs-se a matar gordas?
O cientista sorri, criando suspense, e explica:
— A característica mais espantosa causada pela síndrome é a ausência total de impressões digitais.
O ruído surdo feito pelo cientista ao fechar o livro tira Esteves e Diana do transe provocado pela notícia.
— Em todos os meus anos como policial da cidade de Lisboa, nunca ouvi disparate mais estapafúrdio — sentencia Tobias Esteves.
— Não é culpa sua — tranquiliza-o Peterzani. — Trata-se de um fenômeno raríssimo, atinge apenas uma em cada três milhões de pessoas.
— Uma em três milhões!? — admira-se Diana.
— Eh sì. Em todos os meus anos como médico e pesquisador, nunca encontrei um portador.
— E essa síndrome causa distúrbios neurológicos ou psicológicos? — pergunta Tobias Esteves.
— Claro que não, a doença nunca afetou o cérebro de ninguém! Dio mio, que ignoranza galopante! Pelo que eu li nos jornais, o assassino é um psicopata. Mas isso não tem nada a ver com a síndrome.
À porta do instituto de Manguinhos, construído no estilo mourisco das Mil e uma noites, Diana despede-se do sedutor cientista italiano, sentindo-se como Sherazade fugindo do sultão.
— Valeu a pena a visita — ironiza Tobias Esteves, quando saem de Manguinhos. — Agora basta procurar por um gajo sem digitais, desdentado, manchado e sem alfarreca.
— Sem o quê?
— Sem cabeleira, enfim, com poucos cabelos. É uma expressão lá nossa — explica ele. — Aproveito pra pedir perdão à menina Diana pela minha resposta abrupta ao comentário jocoso do italiano — desculpa-se.
Diana engata a terceira marcha ao sair de uma curva.
— Não ligue pra ele, Tobias, o Luigi é um cientista genial, mas acha que tudo lhe é permitido. Foi expulso da Universidade de Roma, onde era catedrático, porque se recusou a fazer a saudação fascista numa visita de Mussolini.
— Começo a simpatizar com ele. Mussolini e Hitler são dois malucos que ainda vão causar muitos problemas. Não queria estar na Europa agora.
— Pois é pra onde eu vou.
Esteves espanta-se com a revelação de Diana.
— A menina está a troçar comigo?
— Não, Tobias, é verdade. Costa Rego me convidou pra ser correspondente internacional do Correio, na França.
Costa Rego, um dos jornalistas mais importantes do país, é redator-chefe do famoso Correio da Manhã. Diana o conhecia dos saraus de sua mãe, Dulce de Souza Talles, onde se reuniam artistas e intelectuais, encontros que rivalizavam com os salões de Laurinda Santos Lobo, em Santa Tereza. É num desses saraus que Diana solicita o posto ao jornalista. Apesar das súplicas da mãe, que a quer perto de si, Costa Rego, um renovador na história da imprensa, encanta-se com a ousadia da moça e com a ideia de ter uma mulher no foco do conflito iminente.
Diana estica a terceira do Lagonda e passa a quarta, com suavidade, aproveitando a reta. O feltro Borsalino escapa das mãos de Esteves. Ele toma coragem e pergunta:
— Não há nada que possa fazê-la desistir de uma aventura tão perigosa?
— Não, Tobias, é tudo que eu quero. Estar no lugar certo, no momento certo.
Esteves despeja a sentença guardada desde que conheceu Diana:
— Então me forças a dizer sem mais delongas que estou inexoravelmente apaixonado por ti.
Diana enfia o pé no freio e o carro vai ziguezagueando até parar junto à calçada. Ela vira-se, segura o rosto do inspector entre as mãos e beija-lhe a boca. Esteves retribui com o fervor há tanto tempo reprimido.
— O meu beijo tem dois motivos: primeiro, é prova de que também gosto de você. Segundo, é um beijo de despedida. No momento, não há, na minha vida, espaço pra esse grande amor. Toda a minha paixão está concentrada no meu ofício.
— Quem sabe, um dia? — diz, esperançoso, o português.
— Quem sabe.
Ela o beija novamente e dispara o Lagonda em direção ao trânsito da avenida. Satisfeito por ter ao menos declarado o seu amor e não ter sido rejeitado, Tobias lembra-se, sem motivo algum, de um provérbio da região do Zambujal que seu avô gostava de repetir: “Mais vale ser solteirona em Sintra do que apedrejada em Teerã”.
Na manhã fria de inverno, como é de hábito, Calixto sai da Casa Cavé, onde seu amigo, o gerente Castelão, lhe serve todos os dias um lauto café da manhã, e segue, saciado, a pé, para o palácio Central da Polícia, na rua da Relação. Acha que a caminhada ajuda-o a manter a forma.
É o primeiro a “começar o expediente”, como costuma dizer. Abre a antessala, inspeciona sua mesa e o gabinete do delegado Mello Noronha. Ao contrário de Noronha, Valdir Calixto é exageradamente organizado. Gosta das gavetas arrumadas, dos papéis em ordem sobre a mesa e dos fichários em ordem alfabética.
Como Noronha é exatamente o oposto, todos os dias Calixto é compulsado a recompor as pastas espalhadas durante a véspera. O que aborrece o inspetor é o fato de Noronha culpá-lo pelo sumiço de qualquer documento. Depois de encontrar o arquivo no lugar onde o delegado o enfiou, ainda tem de ouvir o eterno resmungo ranzinza: “Eu sabia. Foi você!”. Valdir Calixto nem se dá mais o trabalho de protestar.
Há outro motivo para ele chegar bem cedo nesse dia. Quer ler o jornal antes que Mello Noronha o destrua. É impossível lê-lo depois dele. Noronha arranca páginas, amassa as notícias, demole as manchetes. E o delegado não admite que alguém o folheie antes. Calixto desenvolveu uma técnica especial para redobrar as páginas sem deixar marcas, a não ser as da dobradura original. Se, acidentalmente, provoca algum vinco suplementar, ele passa o jornal a ferro.
Seu interesse especial na edição desta quarta-feira refere-se aos anúncios que oferecem quartos. Agora que Calixto completou vinte e oito anos, sua adorada mãe decidiu que é hora dele ir morar sozinho. É um passo difícil, porém a determinação materna é irredutível. Ele coloca o periódico em cima da larga mesa de reuniões e, com os olhos rasos d’água, começa a ler os reclames que cobrem a primeira página do Jornal do Brasil.
— O que é que você está fazendo com o MEU jornal?! — berra, da porta, Mello Noronha, com um senso de propriedade maior que o do conde Pereira Carneiro.
Com o susto, o aterrorizado Calixto quase arranca a página fora.
— Nada, doutor, eu nem abri. Eu só estava procurando...
— Não interessa! Ninguém lê antes de mim!
— Nem depois... — atreve-se a dizer o subalterno.
Tobias Esteves, que assiste da porta à cena, solta uma gargalhada.
— Tem piada... Está certo o Calixto, senhor doutor delegado. Do jeito que ficam os diários depois que os pega, se calhar não servem nem pra forrar galinheiros.
Percebendo que a folha está intacta, e meio acanhado pela presença de Tobias, Noronha se dá conta do exagero.
— Se você está buscando alguma coisa, basta pedir — ele concede, devolvendo o jornal com relutância.
— Estou procurando moradia. Minha mãe resolveu que é hora de eu sair de casa. — Ele aponta para uma das minúsculas ofertas: — Esta aqui parece ótima.
Esteves empresta seu sotaque à leitura das letras pequenas:
— “Aluga-se, a senhor distinto, quarto de frente, mobiliado, com pensão, em casa de família mineira. Todo o conforto, não falta água e tem telefone. Avenida Passos, 34.” — Tobias faz uma pausa dramática e carrega na inflexão, olhando para Noronha: — “Exigem-se referências”.
— Não tem problema, Valdir, pede pro Filinto Müller... — brinca o delegado, vingando-se de Calixto.
— Prefiro a sua recomendação, doutor — afirma o policial, entregando o jornal a Noronha.
O superior recusa, com um muxoxo de criança birrenta.
— Agora, pode ler. Não quero mais, você estragou o meu prazer.
Tobias Esteves disfarça o riso, ante o exagero de Noronha. Calixto aproveita-se da situação para folhear o diário com todo o cuidado. Sabe que o delegado não vai aguentar muito tempo sem procurar as notícias do dia.
No mesmo instante em que Mello Noronha tenta acender um dos temíveis charutos, sua bela Yolanda adentra o gabinete. Está deslumbrante, num tailleur azul-escuro estilo Chanel, boina da mesma cor, o pescoço enfeitado por um fino fio de pérolas. Ato contínuo, Noronha apaga o fósforo e guarda o Panatela. Esteves levanta-se para saudá-la:
— Imenso prazer em revê-la e, se o marido me permite o elogio, linda e elegante como sempre.
— Nem tanto. Preciso perder dois quilos.
Tobias Esteves pontifica sobre o assunto:
— Senhora dona Yolanda, se me permite, sua declaração tem uma característica universal. Toda mulher do mundo acha que precisa perder dois quilos. O que disse já foi repetido em todas as demais línguas faladas no dito mundo civilizado. Sabe como a mulher chega a esta conclusão? Observando-se nas fotos. No espelho, ninguém se vê como realmente é. Diante do espelho, acontece uma correção inconsciente do corpo, e ela apresenta o melhor ângulo de si mesma.
Numa fotografia, as pessoas aparecem chapadas no papel. Ninguém faz de si uma imagem real. Nos achamos um pouco melhores do que somos. Por isso é tão comum ouvir-se a frase: “Estou horrorosa nesta foto!”. Geralmente, não é verdade. De modo que posso garantir à senhora, dona Yolanda, que a sua beleza é irreprochável.
— Muito obrigada, seu Tobias, mas a verdade é que eu preciso perder dois quilos.
Dizendo isso, Yolanda vira-se para o marido:
— Antenor, desculpe vir te incomodar no trabalho, amor, mas meu dinheiro acabou.
— Antenor? — pergunta Tobias, surpreso.
— É meu nome de batismo — explica, emburrado, o delegado, que odeia ser chamado assim. — Pra que é que você precisa de dinheiro agora?
— Eu tenho de comprar uma nova droga pra emagrecer que está fazendo o maior sucesso.
— Que remédio é esse? — indaga Noronha, levando a mão à carteira.
— São umas pílulas que só vendem numa farmácia de manipulação aqui no centro. Parece que o resultado é fantástico.
Calixto, que continuou lendo, entra na conversa.
— Puxa, dona Yolanda, olha só que coincidência. Acabei de ler um anúncio de remédio. Será o mesmo? — ele pergunta, mostrando o jornal.
— Caralluma fimbriata... Onde é que eu vi esse nome? Será um remédio que a minha mãe toma pros nervos?
Noronha arranca a página das mãos de Calixto:
— Não, meu amigo, eu também já vi esse nome e acho que sei onde foi. Calixto, você é um gênio.
— Eu!?
— É. De hoje em diante, está autorizado a ler o jornal antes de mim.
— Obrigado, doutor — agradece Valdir Calixto, sem entender.
Noronha pega o telefone e liga para o laboratório da Polícia Técnica.
— Por favor, o professor Pelegrino. É o delegado Mello Noronha.
Aloísio Pelegrino atende:
— Fala, Noronha.
— É o seguinte, Aloísio: por acaso um dos componentes achados nas pílulas do quarto da alemã era uma tal de Caralluma fimbriata?
— Era.
— Pra que serve?
— No meu entender, pra nada. Está muito em moda, alguns charlatães a vendem como moderador de apetite.
— E adianta?
— Se adiantasse, a alemã seria magra.
— Tem efeitos colaterais?
— Às vezes provoca acidez no estômago, retenção de líquido e inchaço.
— Então, em vez de emagrecer, a gorda incha?
— Em alguns casos.
— Dá pra verificar se tinha o mesmo componente nos frascos encontrados nas casas das outras vítimas?
— Só um instante.
No espaço de tempo em que Aloísio Pelegrino se afasta do aparelho para verificar seus arquivos, Noronha conta a descoberta aos outros. O cientista volta ao telefone:
— Noronha, você está certo. Além da Caralluma, a mesma mixórdia consta nos rótulos dos frascos achados nos quartos de todas elas. São várias ervas inofensivas, como a cáscara-sagrada.
— Cáscara-sagrada? Serve pra quê?
— No máximo, pode causar cólicas e diarreia. Em
vez de cáscara-sagrada, o nome melhor seria “cáscara-cagada”.
— Obrigado, Aloísio. Você foi de grande ajuda.
— Não, Noronha, eu cometi uma falha. Eu devia ter analisado essas porcarias assim que chegaram ao laboratório. Não dei importância, mas vou corrigir isso já. Se os meus amigos do fbi soubessem, nunca me perdoariam.
Noronha desliga o telefone e vira-se para Yolanda, Esteves e Calixto.
— Agora temos um denominador comum a todas as vítimas. — Ele mostra o anúncio. — As sete gordas eram clientes do famoso “Professor” Pedregal.
Yolanda conclui, um tanto decepcionada:
— Quer dizer que eu não vou poder tomar a tal pílula pra emagrecer?
Nesse momento, Diana abre a porta e emenda:
— Alguém falou em emagrecer? Preciso perder dois quilos.
A excitação da descoberta toma conta do grupo. Noronha mastiga a ponta do charuto apagado, Calixto dobra o jornal, Yolanda abana-se, Diana fuma e Esteves, como é de seu costume em situações de tensão, murmulha andando em círculos pela sala. Finalmente, ele sugere o óbvio:
— Primeiro temos que fazer uma visita a esse Professor Pedregal do Beco dos Fígaros.
— O senhor não quer dizer “Barbeiros”? — sugere o educado Calixto.
— É a mesma coisa — vocifera Noronha.
— Talvez seja melhor a gente chamar a Polícia Especial — propõe o cauteloso Calixto.
— Pra quê? Pra fazer papel de bobo?
— O homem pode ser perigoso, doutor Noronha.
— Duvido que ele seja o assassino, não ia sair matando a própria clientela. Nem que fosse português! — gafa Noronha.
Absorto em seu raciocínio, Esteves nem se dá conta do deslize do amigo:
— Parece-me que o mais lógico é que o psicopata esconda-se no beco a escolher as vítimas. De lá, ele as segue e as sequestra, metendo-lhes clorofórmio às narinas. Resta saber como as recolhe e pra onde as leva sem levantar suspeitas. Antes de conceber um plano, faz-se necessária uma visita ao intrujão.
— A quem? — pergunta Calixto.
— Ora pois, ao farmacopola — explica Tobias Esteves, deixando Calixto na mesma.
— Um momento! — manifesta-se Diana. — Vocês não vão conseguir nada indo lá. Toda a propaganda do charlatão se dirige às mulheres. É muito melhor eu ir investigar e ver o que ele vende.
— E eu também vou — afirma Yolanda.
Indiferentes aos enérgicos protestos do delegado e de Tobias, as duas estão irredutíveis.
— Vocês ficam tomando um cafezinho no café Globo, aquele boteco da Primeiro de Março que é perto do
Beco dos Barbeiros, enquanto a gente vai lá agora — decreta Yolanda.
— Em princípio, concordo com as meninas; com tanto entusiasmo, resistir quem há-de? Contudo, não se pode desprezar o perigo que as duas estão a correr.
— Não se preocupem — tranquiliza-os Diana. — Vocês se esqueceram daquela senhora que me protege?
— Que senhora? — perguntam, ao mesmo tempo, Noronha e Tobias Esteves.
— A Derringer — responde Diana, puxando da bolsa a pequena pistola de cano duplo. — É o meu anjo da guarda, mais guarda do que anjo.
Homero Aguilera Pedregal viera de Encarnación, no Paraguai, para o Brasil na virada do século. Atravessara a fronteira, ilegalmente, ainda no colo de sua mãe, a cigana Jimena Espinoza. Jimena tocava harpa no trio paraguaio Los Peruanos. O nome do trio permanece um mistério. Sabe-se que Jimena amancebou-se com o flautista Raúl Oviedo, líder do conjunto, após ter sido espancada durante anos, com regularidade, pelo marido.
O trio obtivera relativo sucesso apresentando-se nos garimpos de Baliza, em Goiás. Durante o dia, Jimena lia a buena-dicha nas mãos calejadas dos garimpeiros. Essa atividade, mais lucrativa do que sua participação como harpista no trio, criara certa desarmonia no grupo. O violeiro Chucho Oviedo, comunista foragido que se destacava na execução das polcas paraguaias pelos sons emitidos num rápido tremular da língua contra o céu da boca, socialista convicto, argumentava, não sem certa lógica, que a quiromancia praticada por Jimena só era possível graças à presença dos três. Jimena contra-argumentava lançando-lhe pragas em dialeto romani.
A infância do pequeno Homero fora atribulada. Ele não tinha vocação para a música; aliás, odiava particularmente os guinchos produzidos pela junção da harpa com a flauta, a viola e a língua paraguaia.
Aos quinze anos, Homero encontrara o índio Kuiussi-erê, banido de sua tribo por falsa pajelança, e com ele estudara a utilização de várias ervas para a cura de diversas doenças. Todas se revelaram ineficazes. Mesmo assim, Homero intuíra que o aprendizado adquirido com Kuiussi-erê poderia ser de grande valia no futuro.
Depois de esgotar a paciência dos garimpos, o trio chegou ao Rio de Janeiro, onde se desfez. Desfez-se também o concubinato entre Jimena e Raúl. O flautista e o violeiro conseguiram ingressar na orquestra latina de Xavier Cugat, que, na época, se apresentava em temporada no Cassino da Urca, e seguiram com a banda para Hollywood. Chucho não tocava mais viola. Com sua língua habilidosa, especializara-se no famoso “Huu!” dos mambos cubanos. Raúl trocara a flauta pelas maracas e, com a experiência obtida cuidando de Pedregal ainda infante, prontificara-se a zelar pelos dois cachorrinhos chihuahua do maestro.
Quanto a Jimena, mantém-se, e ao filho, fantasiada de zíngara lendo a sorte num baralho de tarô nos mafuás da periferia. Nas mesmas feiras onde a mãe atua, Homero Pedregal inicia a prática ilícita de misturar ervas que mal conhece e vendê-las, em cápsulas de gelatina, a incautos consumidores. A ignorância, flagelo da humanidade, é sua maior aliada.
Ao atingir a maioridade, Pedregal possui capital suficiente para arrendar o piso superior de um sobrado no Beco dos Barbeiros. Seu inegável talento mercantilista e a insipiência dos consumidores à procura de drogas milagrosas unem-se para proporcionar ao “Professor” Homero Pedregal uma prosperidade jamais imaginada.
Pedregal usa um jaleco branco imaculado e deixou crescer um cavanhaque de pelos lisos. A tez amorenada e os olhos oblíquos dão-lhe o aspecto pouco confiante de mágico chinês. Hábil comerciante, o falso boticário percebe a importância da propaganda. É mister divulgar suas fórmulas milagrosas, razão dos reclames publicados semanalmente nos jornais. “Es un dinero bien gasto, llevando en cuenta la relación custo-benefício”, pensa ele, ao assinar os cheques. Vários frascos com substâncias coloridas e vasos de plantas exóticas ocupam as prateleiras do notório Herbanário Pedregal. Completando o toque enigmático do ambiente, há, na extremidade do balcão, um vidro de bocal largo onde se vê uma serpente morta enroscada, boiando no álcool.
É a esse sobrado do Beco dos Barbeiros, semelhante a um cenário de bairro chinês em filme americano, que chegam Diana e Yolanda. Diana mostra o jornal.
— Por favor, o Professor Pedregal?
— Homero Pedregal, a sus ordenes, inclusive domingos e feriados, porque moro aqui mismo. Que desejam las lindas senhoritas? — oferece Pedregal, num perfeito portunhol.
— O senhor é espanhol? — pergunta Yolanda.
— Indiano — mente o boticário —, pero descendente de espanholes. Mi família fugiu de Madri durante a Inquisição. Fueran perseguidos como brujos porque já detenían los segredos orientales de la cura por las hierbas sagradas.
Diana vai direto ao assunto, mentindo:
— Nós estamos aqui porque uma amiga nossa perdeu dez quilos numa semana e garante que foi por causa dessas pílulas.
— Sí, sí, es uma fórmula indiana muy antiga, milenar!
— Só o senhor é quem vende?
— Claro! Para preservar o segredo! Es um preparado quase milagroso!
Yolanda intervém, pondo a teste a credibilidade do indo-paraguaio:
— O caso é que nós não queremos emagrecer, queremos engordar.
— No hay problema! Mis cápsulas también engordam.
— As mesmas?! — pergunta Diana, incrédula.
— Sí — afirma Pedregal.
— Como é possível? — pressiona Yolanda.
— Es la maravilha de la ambivalência científica! Primeiro es preciso ter fé. Lo que muda o efeito es orientar la força del pensamento positivo todas las manhanas repetindo três vezes:
Evoé! Deusas Gordas Sagradas!
Façam-me tão gorda
Como las vacas cevadas.
Depois de pronunciar o encantamento, Homero pega na prateleira sob o balcão uma caixa com um pó amarelo e completa a receita:
— Entonces, junto com las cápsulas, quatro copos de leite y o café da manhã, tomar, diluídas em suco de maracujá, duas colheres de sopa deste farelo sagrado hecho de Sacoglottis, Uncaria tomentosa, pé-de-perdiz, papirácea de brosimo, guadicha de quitoco, extrato de mama-cadela y fubá.
As duas amigas mal acreditam no que acabaram de ouvir. O poder de convencimento do paraguaio quase que comprova a validade daquela panaceia universal para todos os males.
— E quanto custa esse preparado? — indaga Yolanda, ligeiramente enojada.
— Muy barato. El farelo es grátis. Las cápsulas, dez mil-réis.
Yolanda resolve regatear:
— Não dá pra fazer por menos?
— Não. Mas posso aumentar o farelo.
— Desculpe a curiosidade — pergunta Diana —, a cobra serve pra quê?
— Pra nada — responde Homero Aguilera Pedregal. — É só decorativa.
Diana pega na bolsa recortes de jornal sobre os assassinatos.
— Uma amiga jornalista soube que todas essas moças tomavam seus comprimidos.
— Sí. Muy triste. Eram freguesas regulares. Coisa rara, infelizmente — ele esfrega os olhos, puxando uma lágrima. — Uma baixa terrible no faturamento.
Depois de mais algumas perguntas sobre os hábitos da clientela, Yolanda e Diana saem carregando pílulas e farelos. Encontram-se com Esteves, Noronha e Calixto, que, ansiosos, já as aguardavam na esquina.
— Então? — perguntam em uníssono o delegado e o português.
— Valeu a visita. Fizemos uma descoberta da maior importância — revela Diana, entregando o embrulho a Mello Noronha.
— O quê?
— Farelo engorda.
Assim que se afastam do Beco dos Barbeiros, Tobias Esteves convida o grupo para um almoço de pescados no famoso restaurante Albamar, na praça Marechal ncora. O Albamar foi construído na antiga torre do Mercado Municipal, perto da estação das barcas da Cantareira, e, além da ótima cozinha, oferece aos frequentadores a vista magnífica da baía de Guanabara. Calixto, primeiro a consultar avidamente a lista de iguarias do cardápio, abre os pedidos:
— De entrada, eu gostaria de um coquetel de camarão, anéis de lula à milanesa e uma dúzia de ostras-portuguesas, como homenagem ao seu Esteves, que está pagando. Como prato principal, o lombo de bacalhau com batata, cebola e arroz. Capricha na posta. De sobremesa, essa torta de chocolate com sorvete de creme.
— Só isso? Você anda inapetente? — ironiza Mello Noronha.
— Não, senhor, é que eu comi uns pastéis no botequim.
— Quando? Eu não vi você pedir pastel nenhum.
— Quando eu fui ao banheiro lavar as mãos. A cozinha é nos fundos, e o cozinheiro é meu amigo de infância, lá do Estácio, o Manduca. Ele é filho da dona Alzena, que era vizinha de minha mãe. Fazia muito tempo que a gente não se encontrava. Enquanto botava o papo em dia, ele me deu um prato de pastéis de palmito. O senhor sabe, palmito, eu não resisto.
— Você é do Estácio? — interessa-se Diana, amante de samba.
— Nascido e criado. Vivia na casa do sargento Chystalino, fundador da Deixa Falar. — Ele refere-se à escola de samba. — Eu tenho samba no pé, dona Diana. Aliás, foi o sargento que me convenceu a entrar pra polícia.
— Você queria ser o quê?
— Costureiro.
— Calixto, você não cessa de me surpreender — afirma Yolanda, ligada nas revistas de moda.
O garçom serve a mesa. Noronha e Esteves, mais comedidos, dividem um prato de frutos do mar. Yolanda e Diana satisfazem-se com o Linguado à Belle Meunière.
A conversa de Calixto com o cozinheiro do boteco desperta os neurônios do português:
— Por acaso, este seu amigo nunca percebeu algo de estranho na rua Primeiro de Março?
— Nunca.
— Hum. Nada?
— Nada.
— Hum.
— A não ser a caminhonete da Doces Finos, que, de vez em quando, para na esquina oferecendo doces — conta Valdir Calixto, rindo e terminando de comer o bacalhau. — O Manduca disse que é tão grande que parece um rabecão branco.
Tobias Esteves tenta lembrar-se de alguma viatura semelhante no ramo das confeitarias, porém não consegue identificar nada parecido entre os veículos dos seus concorrentes. Desconhece a marca Doces Finos. A figura de um imenso carro branco continua a perturbar-lhe o pensamento. Contudo, há uma incongruência na imagem que se forma: Tobias não consegue associá-la a nada açucarado. Súbito, pipoca em sua mente, sobressaindo dentre a frota de furgões, o imenso carro branco da funerária Estige, como um lírio de brancura virginal em meio ao luto de orquídeas negras.
— Qual doçaria qual nada! Parece-me o porta-defuntos branco que estranhei quando fomos ao primeiro enterro. Depois não tornei a vê-lo nos outros funerais.
— Tobias, eu acho que as esganadas estão mexendo com a sua cabeça. Como é que um rabecão de funerária pode virar balcão de doces? — indaga, incrédulo, o delegado, terminando de comer os frutos do mar.
— Sabe-se lá — responde Esteves, enigmático, citando outra vez o bardo. — “Há algo de podre no reino da Dinamarca.”
— Também notei, mas juro que não fui eu — afirma Calixto. — Deve ser do bacalhau.
Na tarde da mesma quarta-feira, depois de deixar Yolanda em casa e despachar seu motorista com o pacote de inutilidades do pseudo-herbolário para o laboratório da Polícia Técnica, Noronha parte para a funerária Estige, na rua Real Grandeza, espremido no carro de Diana com Esteves e Calixto. Uma discreta inspeção da garagem não revela a presença da insólita limusine branca.
A visita foi sugerida por Tobias Esteves, e Mello Noronha, de má vontade, mesmo sem acreditar que aquilo fosse uma pista, concordou, devido à insistência de Diana, sempre à procura de ângulos para sua Leica.
Escuta-se, ao longe, vinda do prédio, uma gravação da Messa di requiem, de Verdi. Depois de tocar a campainha insistentemente, eles são atendidos pelo sisudo Aristarco Pedrosa, o qual indaga em tom grave e austero:
— Que desejam? Por favor, falem baixo. Está havendo um velório de gala no salão principal.
Calixto benze-se, em silêncio, e Noronha vai logo ao assunto, mostrando sua carteira de delegado:
— Quero falar com o seu patrão.
— O doutor Caronte não se encontra — declara o diretor funerário.
— Doutor? Doutor em quê?
— Em tanatopraxia e necromaquiagem pela Universidade de Munique — inventa o pálido assistente. E dispensa os visitantes: — Com licença, nós estamos no meio da cerimônia. Não se pode faltar ao respeito com os entes queridos que não estão mais entre nós.
Mello Noronha, com o pé, impede que o homem feche a porta.
— Um momento. Eu também falo pelos mortos. Trata-se da investigação sobre o assassinato de sete moças. A imprensa batizou os crimes de Caso das Esganadas. Esta agência cuidou de todos os enterros. É só uma rotina, mas eu tenho que interrogar o seu patrão.
— Já lhe disse que ele não está! — repete Aristarco, elevando a voz.
Tobias Esteves resolve interferir:
— Ouve lá. Como é que o senhor entra em contacto com ele em caso de urgência?
Aristarco responde, um sorriso maldoso nos lábios:
— No nosso negócio não há casos de urgência.
Diana percebe que o fiel funcionário não romperá, sem trocadilho, seu silêncio tumular. Sugere que voltem outro dia. Porém, antes que o discreto Aristarco Pedrosa feche a porta, Calixto, intrigado, agarra a maçaneta.
— Espera aí. Eu conheço você. Sou o Vavá Boas Maneiras, lembra? — diz Valdir Calixto, usando o apelido pelo qual é chamado na malandragem.
— Nunca o vi mais gordo — afirma Aristarco, tentando trancar a porta.
Calixto insiste, mais seguro de si:
— Conheço, sim, só que por outro nome.
— Impossível.
— E de outro bairro.
Os circunstantes observam que uma fina camada de suor poreja do rosto de Aristarco.
— Posso lhe falar em particular? — pede ele, quase implorando.
Calixto leva-o pelo braço para o jardim lateral.
— Conheço você das madrugadas da Lapa, nos fins de semana.
— Sou eu mesmo — confessa o assistente.
— Custei a reconhecer. Aqui, seu jeito fica muito diferente. Lá na Lapa, é outra coisa. Eu lembro que no mesmo concurso de fantasias do Carnaval deste ano, que o Madame Satã ganhou, você desfilou de...
— Maçã do Paraíso — completa Aristarco, baixando a vista, num misto de pudor e vaidade.
— Isso! Todo enrolado numa cobra!
— Jiboia...
— Estou quase me lembrando do seu apelido. Como é mesmo?
— Por favor, seu Vavá, o apelido não.
— Cu de Veludo!
— Se o senhor espalhar isso, destrói a minha reputação.
— Pode ficar tranquilo, que a sua vida secreta não sai daqui — afirma Calixto, passando o dedo sobre os lábios cerrados. — Você tem muito talento. Ainda me lembro de você desfilando na passarela e cantando a marchinha do Ary Barroso:
Eu dei...
O que foi que você deu, meu bem?
Eu dei...
Guarde um pouco para mim também.
Não sei...
— Tá bom, seu Vavá, chega. Muito obrigado por guardar o meu segredo. Sou seu eterno devedor!
— Mas, em contrapartida, você tem de me dizer onde é que está o seu patrão — cobra Valdir Calixto.
— E eu sei lá da vida desse homem? — esganiça Aristarco, desmunhecando de vez. — Ele está cada vez mais esquisito, me deixa cuidando de tudo e desaparece durante dias! Daqui e da casa dele, aqui ao lado. Quando vem, fica se escondendo nas sombras, parece o Bela Lugosi — ele explode, referindo-se ao Drácula do cinema. — Está me deixando doida!
— Você não faz a menor ideia de onde ele pode estar?
— Nem morta. Uma amiga minha, a Ivone, travesti cabeleireira da rua Sotero dos Reis, jura que, volta e meia, ele passa por lá de noite, guiando a mil aquele furgão branco que ele adora. Eu acho um horror. Onde é que já se viu defunto entrar de lado?
— Você jura que é só o que você sabe?
— Por são Aristarco, meu santo onomástico. Agora, se me dá licença, tenho que ir dar sequência ao velório. Está na hora dos canapés.
— Canapés?
— Claro, amor, com Dry Martini, tudo muito chique. O enterro aqui é à la carte.
Cu de Veludo afasta-se e, a cada passo que dá, vai se metamorfoseando outra vez no circuncisfláutico diretor funerário Aristarco Pedrosa.
Calixto aproxima-se do grupo.
— Então? — pressiona Noronha, ansioso.
— Vocês são amigos? — pergunta Diana, louca para fotografar Aristarco ao lado de Calixto.
— Ele disse algo que preste? — quer saber Tobias Esteves.
— Nada. Só que a viatura branca pode ter sido avistada pelos lados da Praça da Bandeira. Mesmo assim, não é certo. O... diretor me disse que o homem tem ficado muito tempo sem aparecer por aqui e na casa dele — informa o discreto Calixto, apontando a mansão colada à funerária.
— Isso e nada é a mesma coisa — irrita-se o delegado.
Tobias Esteves aplica novamente a lógica de Ockham:
— Ele cá não vem. A casa, também não vai. Logo, só pode estar em outro sítio.
Noronha perde a paciência:
— É óbvio!
— Meu caro senhor doutor delegado, nunca subestime o poder do óbvio — responde Tobias, afastando-se meditabundo.
Diana pergunta a Calixto, curiosa:
— Como é que nasceu essa amizade entre você e esse Aristarco?
— A gente frequenta a mesma igreja — mente Calixto.
— Vem cá, qual é o mistério terrível que você conhece dele? Como é que você sabe que ele não escondeu nada?
— Por causa do apelido.
— Qual é o apelido?
— É um segredo que jurei levar pro túmulo — declara, solene, Valdir Calixto, porém não consegue deixar de repetir mentalmente: “Cu de Veludo! Cu de Veludo! Cu de Veludo!...”.
O espaço dedicado ao Caso das Esganadas na imprensa é cada vez menor. Há mais de quinze dias que o assassino não exerce sua tarefa hedionda. A notícia sensacionalista que ocupa a primeira página dos jornais nesta sexta-feira é a morte de Lampião e Maria Bonita com mais dez cangaceiros na fazenda Angicos, em Sergipe. A realidade dos cangaceiros não cativa o delegado Mello Noronha, animal tipicamente urbano. Republicano convicto, pouco se lhe dá que Lampião seja o rei do cangaço ou o príncipe da caatinga.
Descobrir o monstro responsável pela chacina das gordas transformou-se em obsessão. Noronha não consegue pensar em outra coisa. Passa em revista os últimos acontecimentos. É clara a ligação existente entre as cápsulas “milagrosas” do Professor Pedregal e as vítimas. Ele não manda prender o charlatão imediatamente, na esperança de que o lugar sirva de isca para o assassino. Na verdade, as investigações do Caso das Esganadas mostraram que as gordas foram abduzidas em locais diferentes, porém o instinto lhe diz que não deve negligenciar essa possibilidade. Estranha o desaparecimento do papa-defuntos, mas não considera, como suspeito de crimes tão horripilantes, o dono da maior funerária do país. “Quiçá da América do Sul!”, ele berra para a sala vazia.
Nove dias após a visita ao paraguaio, no final da tarde prematura de inverno Noronha observa da janela o pôr do sol que colore a cidade em tons de rosa. Como ele esperava, o resultado das análises das últimas amostras recolhidas na botica do farsante Pedregal não revelaram nada de novo. “A não ser o farelo”, conta Aloísio Pelegrino por telefone. “É fubá de ótima qualidade, vou levar pras minhas galinhas”, brinca o professor, desligando.
Desde a ida à funerária, Noronha não se encontra com Tobias Esteves. O português desculpou-se, alegando reuniões marcadas com os gerentes da empresa, que reclamam sua presença. Prometeu voltar a vê-lo o mais breve possível. Faz falta ao delegado a companhia do amigo recente. Mello Noronha acende um Panatela e afunda na sua poltrona.
Diana de Souza Talles aproveitou os dias sem novidades na investigação para atualizar seu passaporte. Renova o visto francês e está pronta para ocupar o posto de correspondente internacional do Correio da Manhã, em Paris. Costa Rego entregou-lhe a credencial de repórter e fotógrafa; ela pode partir a qualquer momento. Diana gostaria de embarcar só depois que fosse desvendado o misterioso Caso das Esganadas. Pensa em Tobias Esteves, não sabe por onde ele anda. Acha pura invenção a história das reuniões com gerentes. Imagina, não sabe bem por qual razão, que Tobias esteja preparando algum plano arriscado. Teme por ele. É certo que sentirá saudades daquela turma, principalmente do gorducho detective.
Quando a Alemanha anexou a Áustria, em março, mesmo os analistas políticos mais otimistas viram a Anschluss apenas como um ensaio das pretensões invasoras de Hitler. A apreensão aumenta nos países europeus devido às reivindicações dos sudetos alemães na Tchecoslováquia. Na Espanha, apoiados pelos “voluntários” alemães da Legião Condor, os fascistas continuam ganhando terreno. A ameaça de uma guerra na Europa torna-se evidente.
Calixto é o mais preocupado dos três. Todavia, o motivo da sua inquietação está bem longe do cenário internacional. O que aflige o dedicado policial diz respeito à Portela, escola de samba do seu coração. A escola amainara a tristeza provocada pela extinção da Deixa Falar, no Estácio. Mostrando grande habilidade como passista, Calixto será promovido a mestre-sala da Portela no próximo Carnaval.
Em fevereiro, Valdir Calixto desfilou pela primeira vez, mas não houve premiação para nenhuma das vinte e seis agremiações que se apresentaram debaixo de uma tempestade. O temporal impediu que a Comissão Julgadora, nomeada pela prefeitura e pela União das Escolas de Samba, chegasse ao local. Calixto estava tão interessado na situação europeia quanto Noronha na morte de Lampião. O que o atormentava era a possibilidade de outra borrasca atrapalhar o desfile no ano seguinte.
Sábado à noite, Tobias Esteves vai ao teatro Recreio assistir à revista portuguesa Olaré quem brinca!, estrelada por Vasco Santana, conhecido de Esteves há muitos anos. No elenco, a fantástica Mirita Casimiro divide as atenções com Vasco. Grande sucesso de bilheteria, a peça atingiu a marca de cinquenta mil espectadores. Terminado o espetáculo, Tobias dirige-se aos bastidores para cumprimentar o amigo. O camarim está cheio de gente importante da colônia portuguesa, inclusive o embaixador Martinho Nobre de Melo, a quem Esteves é apresentado como importante empresário da indústria alimentícia, proprietário da rede Regalo Luso.
— Sabe-me muito bem o seu Toucinho do Céu — elogia o embaixador.
Vasco omite a prévia atividade de Esteves como policial em Lisboa, demitido após o escândalo do falso suicídio de Aleister Crowley na Boca do Inferno. Afinal, o embaixador é representante do governo salazarista que o afastou do cargo.
Tobias congratula Vasco Santana e a atriz Mirita Casimiro pelo esplêndido desempenho.
— Fartei-me de rir — garante ele.
O embaixador despede-se de todos, e pouco a pouco os visitantes esvaziam o recinto.
Para surpresa do ator, assim que os dois ficam a sós, Tobias Esteves tranca a porta do camarim. Aproxima-se do amigo e segreda-lhe quase ao pé do ouvido:
— Tudo que for dito aqui há de ficar entre nós.
Duas horas da madrugada. A fachada está às escuras quando Tobias Esteves deixa o teatro Recreio.
Desmentindo os serviços de meteorologia, que previram nebulosidade e baixa temperatura, o céu azul sem nuvens clareia a tarde de domingo. Na ilha de Paquetá, as crianças passeiam de bicicleta sob a vigilância atenta dos pais, e no Distrito Federal as famílias lotam os parques, com suas cestas de piquenique sobre toalhas quadriculadas, transformando o Rio de Janeiro num imenso banquete campal.
Caronte também tem fome.
Seu apetite é diferente, jamais satisfeito por meros sanduíches. Cada vez mais, necessita trinchar, destrinchar e destripar sua mãe reencarnada nas gordas. Reduz-se o espaço de saciedade entre os espólios. A premência faz com que ele seja menos cuidadoso. Caronte precisa apascentar seu desejo. “Hoje, o populacho foi à praia aproveitar o sol. O centro está vazio, o comércio, fechado, a não ser aquele que me interessa. O gringo trapaceiro é tão ganancioso que abre até aos domingos e feriados. São os dias mais movimentados da loja, porque, durante a semana, as gordas têm vergonha de serem vistas indo comprar remédio pra emagrecer. Nem sei por que tomo tanto cuidado. A polícia é idiota demais pra desconfiar de mim”, tranquiliza-se, abrindo a porta lateral do furgão branco estacionado na esquina da rua Primeiro de Março com o Beco dos Barbeiros.
Caronte gira, para fora do carro, a prancha repleta de doces. A isca está armada. Paciente, como bom caçador de grandes presas, ele aguarda encoberto pelas sombras do beco.
A gorda chega toda pimpona, bamboleando seu corpanzil. Vindo da rua do Carmo, ela encaminha-se, quase saltitante, para o número 13 do Beco dos Barbeiros. Veste uma saia vermelha plissada que lhe acentua o volume da barriga e realça a alvura das pernas roliças. Uma extravagante blusa azul de bolas amarelas e sapatos brancos de salto alto completam o figurino. Ao contrário das magras, que sempre se acham gordas, as gordas vestem-se como se fossem magras. Os cabelos negros e longos e as faces rosadas dão-lhe uma aparência jovial.
Alheia à armadilha preparada, seus olhinhos cintilam ao ver a prateleira repleta de petiscos na esquina oposta. Passa direto pela arapuca inócua do paraguaio para cair numa cilada mortal. Está quase chegando ao tabuleiro tentador, quando um vulto sai das sombras e cobre-lhe o nariz com o lenço embebido em clorofórmio. A gorda desaba tão rapidamente que Caronte quase não consegue segurá-la. Com medo de ser avistado, arrasta-a sem demora para o furgão e a deita na prancha móvel, estendendo uma mortalha sobre ela. Fecha a porta lateral e recolhe a carga. Assegurando-se de que ninguém acompanhou a operação pelas janelas da vizinhança, ele sai, em alta velocidade, pela Primeiro de Março.
Esquecendo-se da prudência, Caronte entra rangendo pneus na rua Buenos Ayres. Ele segue atravessando a cidade quase deserta, sem dar atenção aos cruzamentos. Vez por outra, lança, pelo espelho retrovisor, um olhar displicente para a gorda imóvel estirada na parte de trás do veículo.
A antevisão do que pretende fazer deixa-o excitado. Ele pensa que o plat du jour do seu cardápio de horrores requer uma imaginação de Júlio Verne. “Ou dos Irmãos Grimm”, diz, e solta uma gargalhada insana.
Caronte alcança a praça da República e contorna à esquerda. A ausência de trânsito permite que ele acelere ainda mais.
Vira à direita na continuação da Visconde do Rio Branco, refazendo, como um autômato, o caminho percorrido centenas de vezes.
Finalmente, na altura da Mariz e Barros, ele entra na rua Elpídio Boamorte.
Como de hábito, quando chega ao antigo matadouro, Caronte ri, refletindo na inadequação do nome daquela rua para as vítimas. As mortes que ali ocorrem nada têm de boas.
Depois de entrar com o carro no depósito e descer a pesada porta, Caronte corre, ansioso, para o fundo do armazém. Lá, lembrando os contos de fadas, vê-se um imenso caldeirão de ferro.
O recipiente, feito de encomenda numa forja de Madureira, repousa sobre uma serpentina a gás das mesmas proporções. O duto metálico retorcido em várias espirais também foi desenhado por Caronte. Ele vai direto ao aparelho e acende a serpentina para esquentar o líquido contido naquela absurda bacia.
Depois dessa manobra, dirige-se ao carro funerário e escancara a porta lateral. De um só golpe, arranca a mortalha que cobre o corpo inerte.
Qual não é sua surpresa quando a gorda empurra-o com os pés, ágil e desperta. Por um instante, sua confiança é abalada pelo susto. Refeito, ele volta ao ataque, mas a gorda já pulou fora do carro e salta-lhe em cima. Os dois rolam no frio piso de cimento. Num gesto simultâneo, agarram-se pelos cabelos. Para espanto de ambos, eles seguram nas mãos duas perucas, a da suposta vítima deixando ver a brilhante cabeleira do inspector Tobias Esteves, e a de Caronte pondo-lhe à mostra a calva. A síndrome de Nagali levou-lhe os ralos fios que restavam e devastou sua pele com manchas indisfarçáveis pela maquiagem.
Impossível dizer quem se assusta mais, Caronte ao ver a transformação da gorda, ou o detective ao perceber que o dono da funerária, careca, de olhos esbugalhados, envelheceu vinte anos.
Tobias não perde tempo:
— Com a autoridade que me foi concedida pelo delegado Antenor Mello Noronha, dou-lhe ordem de prisão!
Em vez de atender ao comando, Caronte, possuído pela fúria da loucura, pendura-se num dos ganchos que pendem do teto do matadouro e, impulsionando a carretilha nos trilhos, lança-se sobre Esteves. Este se desvia e puxa o assassino desvairado para o chão. Para não cair, Caronte firma-se na saia plissada de Esteves. Sua surpresa é ainda maior quando a saia se desprende entre suas mãos, revelando a generosa genitália do português. Esteves não usa nem nunca usou cuecas. Prefere seus órgãos genitais balouçando em liberdade.
Tobias livra-se da blusa e dos sapatos de salto alto e aproveita o impacto causado em Caronte pela visão da sua anatomia avantajada para rasgar uma larga faixa da mortalha deixada no carro e passá-la entre as pernas. Amarra as duas pontas da tira dilacerada no abdômen. A cachopa portuguesa transforma-se em lutador de sumô. Agora está pronto para a luta, jamais combateria com as partes pudendas desguarnecidas.
Recuperado do abalo, Caronte atira longe a saia e ataca, empunhando um dos ganchos que serviam para deslocar carcaças no antigo matadouro. Esteves ouve um ruído de água borbulhando e desvia a vista para o caldeirão. Um forte odor de tempero toma conta do armazém. Tobias reconhece-o imediatamente. Caronte segue o olhar do inimigo e percebe, sorrindo com seus dentes falsos, que ele identificou o cheiro provindo da tina.
— Gosta da receita? Era da minha mãe. Seria de gorda pra gorda, mas vou ter que me contentar com você — diz ele, lançando-se, enlouquecido, sobre Tobias.
Com agilidade insuspeita para um homem de seu porte, Esteves desvia-se, deixando Caronte chocar-se com o carro. O gancho crava-se no para-brisa do veículo, estilhaçando o vidro e desequilibrando o atacante.
— É a minha vez. Deixe-me apresentá-lo à arte marcial lusitana: a galhofa — anuncia Tobias, puxando o inimigo pelos bolsos da calça.
Ele toma impulso, rodopiando tal qual um pião, e joga Caronte longe, como a um boneco desarticulado. Aturdido, o assassino esparrama-se no solo maciço. Esteves avizinha-se, perorando sobre a história do combate luso:
— A galhofa é uma luta corpo a corpo de origem céltica, mas praticada principalmente em Bragança, onde fui campeão regional. Salazar proibiu as competições, pois a luta é muito perigosa, mas, mesmo assim, continuamos a praticá-la. É tão violenta que as mulheres não podem assistir.
— Violenta por quê? — pergunta o abestalhado assassino, sem conseguir levantar-se.
— Porque, toda vez que atiramos o oponente ao solo, partimos pequenos ossos dele. Ele demora a se dar conta disso e, quando percebe, não pode mais se mover.
Esteves agarra-o novamente, desta vez pelo cinto, e, num movimento giratório do corpo, joga-o mais longe ainda. Urrando de dor, Caronte arrasta-se com dificuldade em direção à tina quase incandescente. Pelo barulho, nota-se que o líquido lá dentro está fervendo, e começa a transbordar com um cheiro forte de alho e cebola.
— A palavra galhofa, em língua lusitânica, significa “alegria marcial”, e tu nem podes imaginar a alegria que estás a me dar neste momento.
Tobias Esteves avança sobre Caronte, implacável como um samurai de Trás-os-Montes.
— Antes mesmo de Salazar, em tempos não muito recuados, devido à repressão cultural, sociopolítica e, principalmente, à Inquisição da Igreja Romana, a galhofa quase desapareceu.
Os olhos vidrados de Caronte denotam seu total desinteresse pelo assunto. Ele começa a sentir dores por todo o corpo malhado. Procura se afastar o mais que pode daquele oponente, que mostra a tenacidade de uma lagosta. Tobias Esteves segue investindo e dissertando, saudoso:
— Fazem-me falta os encontros secretos, à meia-noite, nos currais, sobre a palha fresca, quando esborrachava lutadores descalços, com camisas e calças velhas...
Esteves tenta segurar Caronte, literalmente, pelos colarinhos. Pretende aplicar-lhe o “torniquete galego”, o qual imobiliza o adversário sem matá-lo.
Reunindo o que lhe sobra de energia, Caronte ergue-se com um esgar de sofrimento e, para surpresa de Tobias, consegue cobrir a pequena distância que o separa da tina efervescente e atira-se no fluido escaldante do caldeirão. Jamais o pegarão vivo.
Quando o assassino de gordas está prestes a submergir no líquido denso, Esteves ainda o escuta gritar:
— você venceu, mamãããããeee! morro no teu caldeirão, bruxa filha da puta!
Essas foram as últimas palavras de Caronte Barroso, infeliz proprietário da funerária Estige, antes de morrer afogado no prato favorito de sua mãe, Odília Barroso. O Caldo Verde.
Começa a anoitecer e os homens da Polícia Técnica, sob o comando do professor Aloísio Pelegrino, ainda vasculham o antigo matadouro convertido em museu de horrores. Marcas antigas de sangue coagulado, correntes e ganchos pendurados contrastam com o belo piano Pleyel de cauda inteira disposto no centro do galpão. Em outro espaço, onde antes eram recolhidas as entranhas dos animais, há uma moderna mesa de autópsias. O corpo de Caronte continua boiando na quantidade surrealista de Caldo Verde. O tamanho da tina é proporcional à insanidade do psicopata.
O legista Ignacio Varejão, aborrecido por ter sido convocado no domingo, recusa-se a examinar o cadáver no local.
— Sou médico, não sou cozinheiro — sentencia ele, girando nos calcanhares. — Aguardo o corpo no iml.
Dois de seus auxiliares retiram o morto do caldeirão utilizando o mesmo guindaste de que ele se servia para levantar suas vítimas. De fato, não é uma tarefa agradável. Pedaços de legumes e de toucinho picado prendem-se nas suas roupas, transformando Caronte num defunto temperado.
O delegado Mello Noronha e toda a sua equipe chegaram vinte minutos depois do telefonema de Tobias Esteves, que usou o aparelho instalado na parede. Apesar de estranhar o pedido de Tobias, Noronha passou em sua casa e trouxe-lhe uma muda de roupa. Ao ver o português em cueiros, ele entende por quê.
Diana não perde a ocasião de fotografar Esteves naqueles trajes. Calixto procura não olhar para o português transmutado em gigantesco bebê. Sobretudo porque Esteves raspou os pelos das pernas e dos braços. Impaciente, Mello Noronha quer saber todos os detalhes.
— Elementary, my dear Noronha — começa Tobias Esteves, parodiando Sherlock num inglês impecável. — Não foi à toa que Fernando Pessoa pôs-me a alcunha de “Esteves sem metafísica”. Para mim, a investigação policial baseia-se no raciocínio mais simples, sem divagações. O que eu sabia por suposto era que o anômalo não conseguiria ficar muito tempo sem dar vazão a sua necessidade quase fisiológica. Pareceu-me lógico que o melhor posto de observação pra escolher as suas vítimas seria nas imediações do ilusório Herbanário Pedregal, uma vez que todas as pobres gordas eram freguesas do “Professor”. Quanto ao assassino, comecei a suspeitar dele quando soubemos pelo seu diretor funerário que ele lá não ia nem a casa. Se bem se lembra, senhor doutor delegado, disse-lhe na hora um fragmento óbvio da Navalha de Ockham: se lá não vai, nem a casa, tem que estar em outro lugar.
— E eu lhe disse que era óbvio! — recorda Noronha.
— Nem tanto assim, delegado. Uma pessoa que não está fugindo não se esconde sem motivo, a não ser que sua aparência seja tão repulsiva que ela não queira ser vista. Foi quando lembrei-me do que disse o italiano abusado sobre a síndrome de Nagali. Precisava obrigar o senhor Caronte a mostrar-se. Se eu estivesse certo ao unir a rotina das gordas à necessidade cada vez mais premente do assassino, imaginei que a melhor maneira seria pôr-me de isca no Beco dos Barbeiros.
— E o disfarce? Onde arranjou o disfarce? — indaga Diana, examinando as roupas, os sapatos e a peruca, sem conseguir apagar da memória a imagem dele de tanga.
— Isso foi fácil. Fui procurar meu amigo Vasco Santana, que está em temporada no teatro Recreio com uma revista portuguesa de muito sucesso.
— Eu assisti. Olaré quem brinca! — diz Calixto.
— Como? Quando? A que horas? Com quem? — Noronha pergunta, desconfiado.
Há semanas quer ir ver o espetáculo, mas Yolanda se recusa a acompanhá-lo. Acha que toda revista é chula.
— O senhor me desculpe, doutor, mas a minha vida particular não é da conta de ninguém — retruca Calixto, fingindo-se ferido em seus brios.
Na verdade, o policial escapou de um plantão e conseguiu os ingressos com a bilheteira do teatro.
Diana volta ao assunto que interessa:
— Estou vendo uma marca profunda na sua testa. Não dói?
— Doer, dói, mas valeu a pena. Foi devido ao elástico muito apertado da peruca emprestada pela Mirita Casimiro, uma atriz da companhia com quem tive um namorico em Lisboa. Factos de um passado distante. Ela agora anda de amores com o Vasco, coisa séria. — Ele massageia o vergão, que incomoda bastante. — Isso passa. Como diz um provérbio do Alentejo: “Quanto maior a dor, maior o alívio”.
Os ouvintes fazem uma pausa procurando entender a sabedoria do adágio.
Tobias Esteves segue explicando:
— Uma outra atriz, gordota, emprestou-me a saia, a blusa e os sapatos. As duas puseram-se a rir enquanto raspavam-me os pelos do corpo e o bigode. O maquiador completou o rebuço.
Noronha, de mau humor porque Calixto assistiu à revista e ele não, continua quase em clima de interrogatório:
— O que eu quero saber é como foi que você não desmaiou com o clorofórmio.
— Essa foi a parte mais simples do plano. Fui campeão português de mergulho livre em águas profundas. Por isso, na farsa preparada pra dar a impressão de que Aleister Crowley havia se suicidado na Boca do Inferno, fui chamado a mergulhar naquele sítio perigosíssimo. Consigo prender o fôlego por três minutos e sete segundos, tempo que bastou pra burlar o maníaco. Antes que ele me aplicasse o lenço às ventas, contive a respiração até que o veículo partisse em disparada. O resto é o resto — resume Tobias Esteves, lançando outro de seus axiomas.
Noronha, Calixto e Diana olham-no com admiração. Finalmente, é Diana quem fala:
— Qual foi o pior momento de todo esse episódio? O mais traumático?
— Foi quando raspei o bigode. — Ele passa a mão acima do lábio superior. — O bigode é como um símbolo da família Esteves.
— O seu pai também tem bigode? — pergunta Calixto.
— Não. Minha mãe tinha.
Ninguém descobre se Tobias diz a verdade ou se o detective se diverte às custas deles, porque, neste momento, a equipe liderada pelo professor Aloísio Pelegrino, tendo recolhido seus equipamentos, parte para o laboratório da Criminal. Pelegrino carrega uma redoma de vidro cheia de um líquido viscoso onde boiam os globos oculares das vítimas. Colada na garrafa, uma etiqueta onde se lê, numa escrita elegante:
“mal é ter os olhos maiores que a barriga”
provérbio português
Inverno de 1938
As gordas voltam a desfilar despreocupadas pelas ruas do Rio de Janeiro. Por ter contribuído de forma expressiva para a solução do Caso das Esganadas, Tobias Esteves é nomeado delegado especial agregado ao gabinete do delegado Antenor Mello Noronha, e Calixto é promovido a comissário à disposição do delegado no palácio da Polícia. Há apenas uma nota dissonante na alegria geral. Diana anuncia sua partida para a França, no final do mês. Viajará no Belle-Isle, navio da Chargeurs Réunis, que fará escala em Casablanca e Lisboa, antes de aportar em Le Havre.
O cenário europeu agravava-se. Na Tchecoslováquia, continuava a discussão sobre os sudetos alemães, os médicos e professores judeus foram proibidos de exercer a profissão em todo o Reich, inclusive na Áustria, onde, dos mil setecentos e oitenta e sete clínicos, mil cento e vinte e sete eram judeus. Na Itália, Mussolini seguia com a glorificação da raça italiana e consolidava a posição germânica. O instinto jornalístico de Costa Rego lhe dizia que era hora de enviar sua correspondente para Paris.
No primeiro domingo de agosto, instigados pela bela Yolanda, sempre informada sobre os eventos da sociedade, eles resolvem comemorar o desfecho do caso e a despedida de Diana assistindo ao Grande Prêmio Brasil, no Jockey Clube Brasileiro.
O presidente Getúlio Vargas ocupa a tribuna de honra ao lado do embaixador da Argentina, Julio Roca. A forte aguaceira impediu sua habitual passagem pela pista, acenando em carro aberto.
A tarde chuvosa de inverno não combina com as flores plantadas nos chapéus primaveris das beldades que desfilam pela pelouse. Yolanda porta um deslumbrante vestido cinza, de mangas longas, combinando com um chapéu de abas largas cor de vinho. Nem o maior especialista em haute couture diria que aquele modelo exclusivo do costureiro Mainbocher nascera das mãos da Ritinha do Grajaú. A seu lado, vestindo calça e blusa Chanel, um lenço Hermès no pescoço, Diana está longe dali. Sente-se dividida entre os amigos recentes e a viagem, mas sabe que deve partir. Pensa, com carinho, no portuguesinho que acabou de conhecer, porém o espírito de aventura exerce sobre ela uma atração irresistível. Em pé, perto das duas, com o mesmo maltratado terno marrom, o delegado Mello Noronha apresenta um espantoso bom humor. O sucesso no Caso das Esganadas lhe apaziguou a neurastenia. E ele sabe o quanto deve a Tobias Esteves, que, de chapéu e sem bigode, parece outra pessoa.
Calixto volta do guichê de apostas trazendo as pules. Todos, menos ele, apostaram em Quati. A grande expectativa é a vitória desse puro-sangue nacional. Calixto preferiu arriscar seu dinheiro em Pêndulo.
— Por que Pêndulo? — indaga Noronha.
— Porque minha mãe gosta muito de relógio carrilhão.
O delegado arrepende-se imediatamente da pergunta.
As tribunas estão lotadas. O mau tempo não afastou os frequentadores. Finalmente, dão entrada na pista os treze concorrentes da grande disputa do ano. Os cavalos são alinhados, aguardando a ordem do starter. Como sempre, o evento é transmitido para o prado pelo renomado locutor Rodolpho d’Alencastro:
“E atenção, foi dada a partida para os três mil metros do Grande Prêmio Brasil! Desafuero assume o comando do lote, acossado por Quati, Maritain e Mon Secret...”
Rodolpho d’Alencastro segue narrando, mais rápido que o tropel dos cavalos. Está rouco ao narrar o término do páreo:
“... e cruzam a faixa final! Em primeiro lugar, o corcel argentino Pêndulo, em segundo, decepcionando, a nossa grande esperança, Quati, em terceiro, Mon Secret, seguido de Viro Puro e Maritain. Enquanto aguardamos a confirmação do resultado desta magnífica contenda, permitam-me lembrar, com todo o respeito, às senhoras que nos ouvem. Para a mulher moderna, o Regulador Vieira, à base de fluxo-sedatina, alivia as cólicas uterinas, combate as flores-brancas e evita dores nos ovários. A fluxo-sedatina faz...”
Neste exato momento, o mesmo esportista amante das disputas no Circuito da Gávea, também aficionado do hipódromo, rasga a grande quantidade de apostas que fez em Quati e lança novamente o grito aos quatro ventos:
— Cala a boca, veado!
Pela segunda vez na vida, Rodolpho d’Alencastro não sabe o que falar.
Jô Soares
O melhor da literatura para todos os gostos e idades

















