



Biblio VT




O Sol ainda não nascera. Era quase impossível distinguir o céu do mar, mas este apresentava algumas rugas, como se de um pedaço de tecido se tratasse. Aos poucos, à medida que o céu clareava, uma linha escura estendeu-se no horizonte, dividindo o céu e o mar. Então, o tecido cinzento coloriu-se de manchas em movimento, umas sucedendo-se às outras, junto à superfície, perseguindo-se mutuamente, sem parar.
Quando se aproximavam da praia, as barras erguiam-se, empilhavam-se e quebravam-se, espalhando na areia um fino véu de água esbranquiçada. As ondas paravam e depois voltavam a erguer-se, suspirando como uma criatura adormecida, cuja respiração vai e vem sem que disso se aperceba. Gradualmente, a barra escura do horizonte acabou por clarear, tal como acontece com os sedimentos de uma velha garrafa de vinho que acabam por afundar e restituir à garrafa a sua cor verde. Atrás dela, o céu clareou também, como se os sedimentos brancos que ali se encontravam tivessem afundado, ou se um braço de mulher oculto por detrás da linha do horizonte tivesse erguido um lampião e este espalhasse raios de várias cores, branco, verde e amarelo (mais ou menos como as lâminas de um leque), por todo o céu. Então, ela levantou ainda mais o lampião, e o ar pareceu tornar-se fibroso e arrancar, daquela superfície verde, chispas vermelhas e amarelas, idênticas às que se elevam de uma fogueira.
Aos poucos, as fibras da fogueira foram-se fundindo numa bruma, uma incandescência que levantou o peso do céu cor de chumbo que se encontrava por cima, transformando-o num milhão de átomos de um azul suave. O mar foi, aos poucos, tornando-se transparente, e as ondas ali se deixavam ficar, murmurando e brilhando, até as faixas escuras quase desaparecerem. Devagar, o braço que segurava a lanterna elevou-se ainda mais, até uma chama brilhante se tornar visível; um arco de fogo ardendo na margem do horizonte, cobrindo o mar com um brilho dourado.
A luz atingiu as árvores do jardim, tornando, primeiro, esta folha transparente, e só depois aquela. Lá no alto, uma ave chilreou; seguiu-se uma pausa; mais abaixo, escutou-se outro chilreio. O sol definiu os contornos das paredes da casa, e, semelhante à ponta de um leque, um raio de luz incidiu numa persiana branca, colocando uma impressão digital azulada por baixo da folha da janela do quarto. A persiana estremeceu ligeiramente, mas lá dentro tudo se mostrava fosco e inconsistente.
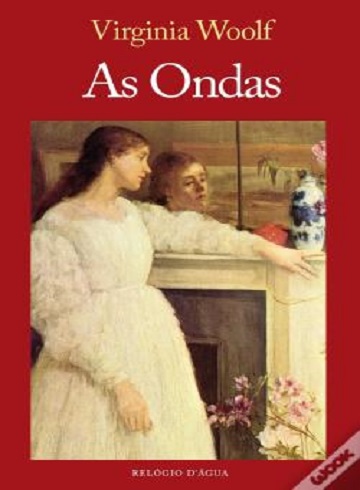
Cá fora, os pássaros cantavam uma melodia sem sentido.
– Vejo um anel – disse Bernard – suspenso por sobre mim. – Está suspenso num laço de luz e estremece.
– Vejo uma lâmina de um amarelo pálido – disse Susan –, espalhando-se até encontrar uma risca púrpura.
– Ouço um som – disse Rhoda –, piu, piu, piu, piu, a subir e a descer.
– Vejo um globo – disse Neville – suspenso numa gota que cai de encontro à encosta de uma enorme montanha.
– Vejo uma borboleta escarlate – disse Jinny –, tecida com fios de ouro.
– Ouço cascos a bater – disse Louis. – Está preso um animal bastante grande. Bate os cascos, bate e bate.
– Reparem na teia de aranha ao canto da varanda – disse Bernard. – Está cheia de contas de água, de gotas de luz.
– As folhas juntaram-se em torno da janela como se fossem orelhas pontiagudas – disse Susan.
– Há uma sombra no caminho -– disse Louis. – Parece um cotovelo dobrado.
– A erva está cheia de linhas luminosas – disse Rhoda. – De certeza que caíram das árvores.
– Nos túneis existentes entre as folhas, podem ver-se olhos brilhantes. São de pássaros – disse Neville.
– As hastes estão cobertas de pêlos curtos e duros – disse Jinny – e as gotas de água ficam presas neles.
– Uma lagarta enroscou-se e parece um anel de onde saem muitos pés verdes – disse Susan.
– Um caracol cinzento vem a descer o caminho, alisando as ervas atrás dele – disse Rhoda.
– E as luzes das janelas reflectem-se aqui e ali na relva – disse Louis.
– As pedras fazem-me ficar com os pés frios – disse Neville. – Sinto-as a todas, uma a uma, redondas e pontiagudas.
– Tenho as costas das mãos quentes – disse Jinny –, mas as palmas estão pegajosas e úmidas por causa do orvalho.
– Agora, o galo está a cantar e lembra um esguicho de água avermelhada numa corrente branca – disse Bernard.
– Os pássaros não param de cantar à nossa volta e por todo o lado – disse Susan.
– O animal bate as patas; o elefante com a perna presa; o enorme animal que está na praia bate os cascos – disse Louis.
– Reparem na casa – disse Jinny –, com todas as janelas e persianas brancas.
– A água fria começa a correr na torneira da cozinha – disse Rhoda –, caindo no peixe que está na bacia.
– As paredes estão cheias de rachas douradas – disse Bernard –, e por baixo das janelas há muitas sombras azuis em forma de dedos.
– Agora, Mrs. Constable está a colocar as suas meias escuras e grossas – disse Susan.
– Quando o fumo se elevar na chaminé, o sono escapar-se-á pelo telhado como uma névoa muito fina – disse Louis.
– Os pássaros começaram por cantar em coro – disse Rhoda. – Agora, a porta da cozinha já não está trancada. E lá vão eles a voar. E lá vão eles pelos ares
como uma mão-cheia de sementes. Mesmo assim, há um que continua a cantar junto à janela do quarto.
– Formam-se bolhas no fundo da frigideira – disse Jinny – Depois, elevam-se, cada vez mais rápidas, até formarem uma cadeia prateada que chega ao topo.
– Agora, o Billy está a escamar o peixe com uma faca – disse Neville.
– A janela da casa de jantar é agora azul-escura – disse Bernard –, e o ar ondula por cima das chaminés.
– Uma andorinha está empoleirada no fio eléctrico – disse Susan. – E a Biddy poisou o balde com força nas lajes da cozinha.
– Aquilo era a primeira badalada do relógio da igreja – disse Louis. – A seguir vêm as outras; uma, duas; uma, duas.
– Olhem para a toalha, muito branca, a voar para cima da mesa – disse Rhoda. – Vêem-se, agora, os círculos de porcelana branca e faixas prateadas ao lado dos
pratos.
– De repente, uma abelha zumbe ao meu ouvido – disse Neville. – Está aqui; já se foi embora.
– Estou a ferver. Tenho frio – disse Jinny. – Ou estou ao sol ou à sombra.
– Já se foram todos embora – disse Louis. – Estou só. Foram para casa tomar o pequeno-almoço, e eu fiquei ao pé do muro, entre as flores. Ainda é cedo, falta
muito tempo para ir para as aulas. As flores são como manchas incrustadas nas profundezas verdes. As pétalas são arlequins. As hastes erguem-se a partir de buracos
negros. As flores, semelhantes a peixes luminosos, recortando-se contra um fundo escuro, nadam nas águas verdes. As minhas raízes chegam às profundezas do mundo;
passam por terrenos secos e alagados; passam por veios de chumbo e prata. Nada mais sou que fibra. Tudo me faz estremecer, e a terra comprime-se contra os meus veios.
Cá em cima, os meus olhos são como folhas verdes e não vêem. Cá em cima, sou um rapaz vestido de flanela cinzenta, com as calças apertadas por um cinto, com uma
serpente de bronze. Lá em baixo, os meus olhos são como os das figuras de pedra existentes nos desertos junto ao Nilo: desprovidos de pestanas. A caminho do rio,
vejo passar mulheres com as suas ânforas vermelhas; vejo camelos baloiçando-se e homens com turbantes. Ouço tropéis e tremores em meu redor.
Cá em cima, o Bernard, o Neville, a Jinny e a Susan (mas não a Rhoda) passeiam pelos canteiros com as suas redes. Andam a caçar as borboletas que poisam nas
flores. Estão a varrer a superfície do mundo. As redes estão cheias de asas esvoaçantes. “Louis! Louis! Louis!”, gritam. No entanto, não me podem ver. Estou do outro
lado da sebe. Existem apenas alguns buraquinhos entre as folhas. Oh, meu Deus, eles que passem! Eles que estendam um lenço no cascalho e nele coloquem as borboletas.
Eles que contem as suas borboletas com manchas pretas e amarelas, as suas vanessas e borboletas-da-couve, mas que não me vejam. Sou tão verde como um teixo à sombra
da vedação. Criei raízes no meio da terra. O meu corpo é um caule. Carrego no caule. Uma gota corre por ele lentamente, e, aos poucos, vai-se tornando maior, cada
vez maior. Agora, qualquer coisa cor-de-rosa passa pelo buraquinho. Agora, um olhar passa pela fenda. A luz que dele emana atinge-me. Sou um rapaz com um fato de
flanela cinzenta. Ela encontrou-me. Toca-me na nuca. Beija-me. Tudo se desmorona.
– Logo a seguir ao pequeno-almoço – disse Jinny –, eu andava a correr. Vi as folhas mexerem-se através de uma abertura na sebe. Pensei: É um pássaro no ninho.
Afastei os ramos e olhei, mas não vi pássaro nem ninho. As folhas continuaram a mover-se. Estava assustada. Passei a correr pela Susan, pela Rhoda, pelo Neville
e pelo Bernard. Estavam todos a falar na arrecadação. Gritei enquanto corria, depressa, cada vez mais depressa. Que faria mexer as folhas? Qual a coisa que faz mexer
o meu coração, as minhas pernas? Foi então que aqui cheguei e te vi, verde como um arbusto, como um ramo, muito quieto, Louis, com os olhos vítreos. Estará morto?,
pensei, e beijei-te. Por baixo do vestido cor-de-rosa, o meu coração saltava, semelhante às folhas, que, e muito embora nada exista que as faça mexer, não param
de oscilar. Agora, chega-me ao nariz o odor a gerânios; chega-me ao nariz o odor a terra vegetal. Danço. Ondulo. Deixo-me cair sobre ti como uma rede de luz. Deixo-me
ficar deitada em cima de ti, a tremer.
– Vi-a beijá-lo através da fenda na sebe – disse Susan. – Levantei a cabeça do vaso das flores e espreitei por uma fenda da sebe. Vi-a beijá-lo. Vi-os, à Jinny
e ao Louis, a beijarem-se. Agora, só me resta embrulhar a minha dor neste lenço. Vou amachucá-lo com força até ficar igual a uma bola. Antes das aulas, irei sozinha
para o bosque das faias. Não me irei sentar à mesa, a fazer contas. Não me irei sentar ao lado da Jinny e do Louis. Vou levar a minha angústia e poisá-la nas raízes,
por baixo das faias. Examiná-la-ei e passá-la-ei por entre os dedos. Eles não me irão encontrar. Comerei nozes e tentarei encontrar ovos por entre os espinheiros,
o meu cabelo vai ficar emaranhado, e acabarei por ter de dormir debaixo das sebes e de beber água das poças, acabando por morrer.
– A Susan passou por nós – disse Bernard. – Passou pela arrecadação com o lenço todo amachucado. Parecia uma bolsa. Não estava a chorar, mas os olhos, que
são tão bonitos, pareciam fendas. Lembravam os dos gatos quando eles se preparam para saltar. Vou atrás dela, Neville. Vou atrás dela com todo o cuidado para, com
a minha curiosidade, a poder confortar quando toda aquela fúria explodir e ela pensar: “Estou sozinha”. Ela agora vai atravessar o campo com toda a calma, para nos
enganar. Já chegou ao declive: pensa que ninguém a vê; começa a correr com os punhos cerrados. As unhas cravam-se na bola em que o lenço se transformou. Vai na direcção
do bosque das faias, para longe da luz. Estende os braços quando se aproxima, e parte para a sombra como se nadasse. Porém, a luz deixa-a cega e acaba por tropeçar
e cair junto às raízes das árvores, onde a luz aparece e desaparece, inspira e expira. Os ramos movem-se para cima e para baixo. Aqui, a agitação é muita. As trevas
movem-se para cima e para baixo. Aqui, a agitação é muita. As trevas abundam. A luz é caprichosa. A angústia é omnipresente. As raízes formam como que um esqueleto
no solo, e as folhas mortas amontoam-se nos seus ângulos. A Susan espalhou toda a angústia que sentia. Poisou o lenço nas raízes das faias e soluça, dobrada sobre
si mesma no ponto onde caiu.
– Eu vi-a beijá-lo – disse Susan. – Espreitei por entre as folhas e vi-a. Estava a dançar, coberta de diamantes, leve como um grão de poeira. E eu sou gorda,
Bernard, e baixa. Os meus olhos nunca se levantam do chão e vejo insectos na erva. O tom quente e amarelo que estava junto a mim transformou-se em pedra quando viu
a Jinny beijar o Louis. De hoje em diante, vou passar a comer erva e acabarei por morrer junto a uma poça de água castanha, cheia de folhas podres.
– Vi-te fugir – disse Bernard. – Quando passaste pela arrecadação, ouvi-te gritar: “Sou tão infeliz!”. Poisei a faca. Estava a fazer barcos de madeira com
o Neville. Para mais, tenho o cabelo despenteado porque, quando a Mrs. Constable me disse para o pentear, havia uma mosca numa teia de aranha, e dei comigo a perguntar:
“Deverei soltar a mosca? Deverei deixá-la ser comida?”. É por isso que ando sempre atrasado. Tenho o cabelo despenteado e estes pauzinhos prenderam-se nele. Quando
te ouvi gritar, segui-te e vi-te poisar o lenço amarrotado, contendo toda a raiva e todo o ódio. No entanto, isso vai passar depressa. Os nossos corpos estão agora
juntos. Podes ouvir-me respirar. Podes também ver aquele escaravelho com uma folha às costas. Primeiro, vem neste sentido, depois, passa para aquele, e isso faz
com que o teu desejo de possuir uma coisa apenas (agora é o Louis) se veja obrigado a estremecer como a luz que se move por entre as folhas das faias; e por fim
as palavras, que agora se movem sombrias nas profundezas da tua mente, acabarão por quebrar este nó de dor enrolado no teu lenço.
– Amo – disse Susan –, amo e odeio. Desejo apenas uma coisa. O meu olhar é rígido. Dos olhos da Jinny desprendem-se milhares de luzes. Os da Rhoda assemelham-se
àquelas flores pálidas, onde as borboletas nocturnas vêm poisar. Os teus são grandes e redondos, e nunca se quebram. Mas eu já tenho um objectivo. Vejo insectos
na erva. Muito embora a minha mãe ainda me tricote meias brancas e me costure bibes, e eu não passe de uma criança, o certo é que amo e odeio.
– Mas, quando nos sentamos juntos – disse Bernard –, fundimo-nos um no outro com frases. Ficamos unidos por uma espécie de nevoeiro. Transformamo-nos num território
imaterial.
– Estou a ver o escaravelho – disse Susan. – É preto; estou a ver; é verde, estou a ver; as palavras amarram-me ao solo. Mas tu divagas, tu escapas-te; as
palavras e as frases por elas compostas elevam-se mais e mais.
– Bom – disse Bernard –, vamos partir à aventura. Há uma casa branca entre as árvores. Está mesmo lá no fundo. Vamo-nos afundar como dois nadadores, tocando
o solo com as pontas dos pés. Vamo-nos afundar através do ar esverdeado das folhas, Susan. Vamo-nos afundar enquanto corremos. As ondas fecham-se sobre nós, as folhas
das faias tocam-se por cima das nossas cabeças. Lá está o relógio do estábulo com os seus ponteiros dourados a brilhar. Aqueles ali são os altos e baixos dos telhados
da casa grande. O empregado da cavalariça, calçando umas botas de borracha, não pára de gritar no pátio. Estamos em Elvedon. Agora, caímos através das folhas das
árvores e chegamos ao chão. O ar já não faz rolar por cima de nós as suas vagas enormes, tristes e avermelhadas. Os nossos pés tocam o solo; pisamos terra firme.
Ali, está a sebe bem aparada do jardim das senhoras. É por ali que elas andam, ao meio-dia, munidas de tesouras, a cortar rosas. Agora, estamos no bosque em forma
de anel, rodeado por um muro. Estamos em Elvedon. Já tenho visto marcos nos cruzamentos a indicar o caminho para aqui, se bem que nunca ninguém cá tenha estado.
Os fetos têm um cheiro muito forte, e por baixo deles crescem fungos vermelhos. Acordamos as gralhas adormecidas que nunca antes viram uma forma humana; pisamos
bolotas apodrecidas, escorregadias e avermelhadas devido ao tempo. Há um círculo de pedra em redor deste bosque; nunca cá vem ninguém. Escuta! É o ruído provocado
por um sapo gigante a saltar; são as pinhas a cair por entre os fetos.
Põe o pé neste tijolo. Espreita por cima do muro. Aquilo ali é Elvedon. Há uma senhora sentada entre duas grandes vidraças, a escrever. Os jardineiros varrem
o jardim com duas grandes vassouras. Somos os primeiros a chegar aqui. Somos os descobridores de um território desconhecido. Não te mexas; os jardineiros disparam
se nos virem. Depois, pregam-nos na porta do estábulo como se fôssemos doninhas. Cuidado! Não te mexas. Agarra-te com força aos fetos que crescem em cima do muro.
– Vejo a senhora a escrever. Vejo os jardineiros a varrer – disse Susan. – Se morrermos aqui, não há ninguém para nos enterrar.
– Corre! – disse Bernard. – Corre! O jardineiro da barba preta já nos viu! Vamos morrer! Vão-nos matar como se fôssemos gaios e pregar-nos à parede! Estamos
em território hostil. Temos de fugir para o bosque das faias. Temos de nos esconder debaixo das árvores. Existe um caminho secreto. Dobra-te o mais que puderes.
Avança sem olhar para trás. Vão pensar que somos raposas. Corre!
Agora, estamos a salvo. Já nos podemos voltar a endireitar. Já podemos estender os braços no meio desta vegetação tão alta, no meio deste bosque tão grande.
Não ouça nada. Aquilo é o murmúrio das ondas do ar. Isto é o pombo-bravo que se escondeu no cimo das faias. O pombo agita o ar; o pombo agita o ar com as suas asas
de madeira.
– Estás-te a afastar – disse Susan –, tu e as tuas frases. Elevas-te nos ares como bolas de sabão, cada vez mais alto, por entre as camadas de folhas, até
acabares por desaparecer. Agora, demoras-te um pouco. Agora, puxas-me a saia, olhas para trás e constróis muitas frases. Acabaste por me escapar. Aqui, é o jardim.
Aqui, fica a sebe. Aqui, está a Rhoda no meio do carreiro, a embalar uma bacia castanha cheia de pétalas.
– Todos os meus navios são brancos – disse Rhoda. – Não quero nem as pétalas vermelhas das malvas nem sequer as dos gerânios. Quero apenas pétalas brancas
que flutuem quando inclino a taça. Tenho uma frota a vogar de margem a margem. Deixarei cair um ramo lá dentro, tal como se fosse uma jangada destinada a um náufrago.
Deixarei cair uma pedra lá dentro e ficarei a ver as bolhas erguerem-se das profundezas do mar. O Neville desapareceu e a Susan também; a Jinny está no jardim em
frente à cozinha a apanhar borboletas, e o mais provável é o Louis estar com ela. Tenho pouco tempo para estar só. A esta hora, a Miss Hudson está a espalhar os
livros pelas carteiras. Tenho pouco tempo para ser livre. Apanhei todas as pétalas caídas e pu-las a nadar. Pus gotas de chuva em algumas. Vou colocar um farol aqui.
Agora, vou embalar a minha taça castanha de um lado para o outro para que os meus navios possam cavalgar as ondas. Alguns afundar-se-ão. Outros despedaçar-se-ão
contra os rochedos. Mas há um que navega sozinho. É o que é verdadeiramente meu. Navega por cavernas geladas onde os ursos polares rosnam, e das estalactites pendem
correntes negras. As ondas elevam-se; as suas cristas enrolam-se; reparem nas luzes dos mastros principais. A frota separou-se e todos os navios naufragaram à excepção
do meu, que sobe as ondas e se antecipa à tempestade, alcançando as ilhas onde os papagaios tagarelam e as trepadeiras...
– Onde é que está o Bernard? – disse Neville. – É ele quem tem a minha faca. Estávamos na arrecadação a fazer barcos, e foi então que a Susan passou. O Bernard
deixou cair o barco e foi atrás dela com a minha faca, aquela que é muito afiada e serve para talhar as quilhas. Ele é como um fio muito esticado, sempre a estremecer.
É como as algas que estão penduradas do lado de fora da janela, ora úmidas ora secas. Deixa-me sozinho, vai atrás da Susan; e, se ela gritar, ele pega na minha faca
e conta-lhe histórias. A lâmina grande é um imperador; a lâmina quebrada um negro. Odeio coisas que estremecem; odeio coisas escorregadias. Odeio delírios e misturas.
A campainha está a tocar e vamos chegar atrasados. Temos de poisar os brinquedos. Temos de entrar ao mesmo tempo. Os livros estão arrumados lado a lado, em cima
da mesa forrada a baeta verde.
– Só conjugarei o verbo depois de o Bernard o ter dito – disse Louis. – O meu pai é banqueiro em Brisbane e eu falo com sotaque australiano. Vou esperar e
imitar o Bernard. Ele é inglês. Eles são todos ingleses. O pai da Susan é vigário. A Rhoda não tem pai. O Bernard e o Neville são filhos de cavalheiros. A Jinny
vive em Londres com a avó. Estão todos a morder as canetas. Agora, estão a virar os livros, e, olhando de esguelha para Miss Hudson, contam-lhe os botões vermelhos
do corpete. O Bernard tem um raminho no cabelo. Os olhos da Susan estão vermelhos. Ambos estão corados. Mas eu estou pálido; estou limpo; e as minhas calças de golfe
estão bem apertadas com um cinto com uma cobra de bronze. Sei a lição de cor. Sei mais do que aquilo que eles alguma vez saberão. Sei os casos e os gêneros; podia
aprender tudo e mais alguma coisa se quisesse. Mas eu não quero emergir e dizer a lição. Tal como fibras num vaso de flores, as minhas raízes enrolam-se em torno
do mundo. Não quero emergir e viver à luz deste enorme relógio amarelo que não pára de fazer tiquetaque-tiquetaque. A Jinny e a Susan, o Bernard e o Neville, juntam-se
e transformam-se numa correia pronta para me chicotear. Riem-se por eu ser tão arrumado, por falar com sotaque australiano. Vou tentar imitar o Bernard com os seus
ceceios em latim.
– Tratam-se de palavras brancas – disse Susan –, iguais às pedras que apanhamos à beira-mar.
– À medida que as pronuncio, batem como caudas, ora à esquerda ora à direita – disse Bernard. – Abanam as caudas; fazem-nas estalar; movem-se em bandos pelo
ar, agora nesta direcção, agora naquela, agora em conjunto, agora separando-se, agora voltando a juntar-se.
– São palavras que queimam, são palavras amarelas – disse Jinny. – Gostava de ter um vestido quente, um vestido amarelo, para usar à noite.
– Cada forma verbal – disse Neville –, tem um significado diferente. O mundo tem uma ordem; existem distinções; existem diferenças neste mundo em cuja margem
tropeço. Trata-se apenas do começo.
– A Miss Hudson acabou de fechar o livro – disse Rhoda. – Está a começar o terror. Agora, pega no giz e começa a desenhar números, seis, sete, oito, e depois
uma cruz e só então uma linha. Está tudo no quadro. Qual é a resposta? Os outros olham, olham com ar de quem compreende. O Louis escreve; a Susan escreve; o Neville
escreve; a Jinny escreve; até mesmo o Bernard começou agora a escrever. Todavia, eu não consigo. Apenas vejo números. Um a um, os outros vão entregando as respostas.
Chegou a minha vez. Só que não tenho respostas. Os outros tiveram autorização para sair. Deixaram-me sozinha para que encontrasse resposta. Os números não têm qualquer
sentido. O sentido desapareceu. O relógio faz tiquetaque. Os dois ponteiros são como caravanas a atravessar o deserto. As barras negras no mostrador são como oásis
verdes. O ponteiro maior antecipou-se para ir buscar água. O outro, dolorosamente, vai tropeçando por entre as pedras quentes. Acabará por morrer no deserto. A porta
da cozinha bate. Os cães vadios ladram lá longe. Reparem, a forma redonda do número começa a encher-se com o tempo; o mundo está todo lá contido. Comecei a traçar
um número, o mundo está lá dentro e eu estou fora do laço. Acabo por o fechar – assim – selando-o, tornando-o inteiro. O mundo está completo e eu estou de fora,
a gritar: “Oh, salvem-me, salvem-me de ser afastada para sempre do laço do tempo!”.
– Lá está a Rhoda a olhar para o quadro – disse Louis –, na sala. Enquanto isso, eu estou cá fora, a apanhar pedacinhos de tomilho e a apertar folhas de abrótano.
E o Bernard vai contando uma história. Tem as omoplatas unidas, e estas lembram as asas de uma pequena borboleta. À medida que olha para aqueles números feitos a
giz, a sua mente fica presa por entre os círculos brancos, até que acaba por se soltar dos laços e cair no vazio. Nada daquilo tem sentido para ela. Nada daquilo
tem sentido para ela. Nada tem para lhe responder. Ao contrário dos outros, ela não tem corpo. E eu, que falo com sotaque australiano e cujo pai é banqueiro em Brisbane,
não a receio como receio os outros.
– Vamos agora rastejar – disse Bernard – por baixo de toda esta vastidão de folhas de groselheira, e contar histórias. Vamos para o mundo subterrâneo. Vamos
tomar posse do território que nos pertence, o qual se encontra iluminado por cachos de groselhas semelhantes a candelabros, ora vermelhos ora negros. Aqui, Jinny,
se nos baixarmos bastante, podemos ficar sentados por baixo das folhas a ver baloiçar os turíbulos. Este é o nosso universo. Os outros passam lá ao longe, no caminho
das carruagens. As saias da Miss Hudson e da Miss Curry revolteiam como se fossem apagar a luz das velas. Aquelas são as meias brancas da Susan. Aqueles são os lindos
sapatos do Louis, pisando o cascalho. O cheiro quente das folhas em decomposição, da vegetação que apodrece, espalha-se pelos ares. Estamos agora num pântano, numa
floresta tropical. Está ali um elefante coberto de larvas brancas, morto por uma seta que o atingiu no olho. Vêem-se, claramente, os olhos brilhantes de algumas
aves – águias e abutres. Tomam-nos por árvores caídas. Precipitam-se por sobre um réptil – é uma cobra de capelo – e deixam-no com uma grande cicatriz, pronto para
ser maltratado pelos leões. Este é o nosso mundo, iluminado por crescentes e estrelas; e grandes pétalas semitransparentes que bloqueiam o caminho como se fossem
janelas avermelhadas. É tudo muito estranho. As coisas ou são enormes ou muito pequenas. Os caules das flores são tão grossos como carvalhos. As folhas são tão altas
como cúpulas de enormes catedrais. Aqui, somos como gigantes, capazes de fazer estremecer as florestas.
– Isso é aqui e agora – disse Jinny – Contudo, em breve teremos de partir. Já falta pouco para que Miss Curry faça soar o apito. Caminharemos. Ficaremos separados.
Tu irás para a escola. Terás mestres que usarão cruzes e colarinhos brancos. Eu irei para uma escola na costa oriental, e terei uma professora que se sentará por
baixo de um quadro da rainha Alexandra. É para lá que irei, junto com a Susan e a Rhoda. Isto é apenas aqui e agora. Agora, estamos deitados por baixo das groselheiras
e, sempre que a brisa sopra, as folhas cobrem-se de manchas. A minha mão lembra a pele de uma cobra. Os meus joelhos são como ilhas cor-de-rosa. A tua cara é como
uma macieira.
– É da Selva que vem todo o calor – disse Bernard. – As folhas são asas negras flutuando sobre as nossas cabeças. Lá no terraço, a Miss Curry já soprou o apito.
Somos obrigados a sair debaixo das folhas das groselheiras e a pormo-nos em sentido. Tens um raminho no cabelo, Jinny Tens uma lagarta no pescoço. Temos de nos formar
filas de dois. A Miss Curry vai levar-nos para uma marcha, ao passo que a Miss Hudson vai ficar sentada à secretária, às voltas com as contas.
– É aborrecido – disse Jinny –, andar pela estrada sem ter janelas para espreitar, sem olhos de vidro azul para olhar para o caminho.
– Temos de formar pares – disse Susan –, e caminhar de forma ordeira, sem arrastar os pés, com o Louis à frente a conduzir-nos, pois ele está sempre atento
e não se desvia para apanhar raminhos.
– Dado que é suposto eu ser demasiado delicado para os acompanhar – disse Neville –, dado cansar-me e adoecer com facilidade, servir-me-ei desta hora de solidão,
desta fuga às conversas, para vaguear pelas matas junto à casa e recuperar, se conseguir (indo para isso colocar-me no mesmo ponto), aquilo que senti ontem à noite,
quando a cozinheira andava atarefada em volta dos fogões, e, através da porta entreaberta, ouvi a história do homem morto. Encontraram-no com a garganta cortada.
As folhas da macieira colaram-se ao céu; a lua brilhou; fui incapaz de levantar os pés e subir os degraus. Encontraram-no na valeta. O sangue gorgolejou pela valeta.
O rosto era tão branco como um bacalhau morto. Chamarei para sempre a esta rigidez, a esta fixidez, a morte entre as macieiras. Viam-se nuvens de um cinzento-pálido
a flutuar; e aquela árvore inexorável; aquela árvore implacável com a sua casca prateada. O ondular da minha vida não tinha qualquer validade. Fui incapaz de passar.
Havia um obstáculo. Não sou capaz de ultrapassar este obstáculo impiedoso, disse. E os outros passaram. Porém, todos estamos condenados pelas macieiras, por aquela
árvore impiedosa que não conseguimos passar.
Agora, já não há imobilidade ou rigidez; e eu vou continuar o meu passeio pelas matas em torno da casa, ao entardecer, ao pôr do Sol, quando este faz aparecer
alguns pontos oleaginosos no linóleo, e os raios de luz se reflectem na parede, fazendo com que as pernas das cadeiras pareçam estar partidas.
– Quando chegamos do passeio – disse Susan -, vi a Florrie no jardim em frente à cozinha. Estivera a lavar, e apertava a roupa contra ela: os pijamas, as camisas
de dormir, as ceroulas. E o Ernest beijou-a. Ele tinha vestido o avental de baeta verde, estava a limpar as pratas; a boca parecia uma bolsa amachucada, e ele puxou-a,
ficando os pijamas comprimidos contra os corpos de ambos. Ele estava cego como um touro, e a angústia fê-la desfalecer. O rosto pálido cobriu-se-lhe de veias vermelhas.
Agora, e muito embora fossem pratos de pão com manteiga e copos de leite à hora do chá, vejo uma fenda na terra, e nos ares elevam-se colunas de vapor quente; a
chaleira ruge da mesma maneira que o Ernest rugiu, e, muito embora os meus dentes se enterrem no pão com manteiga e vá bebendo o leite adocicado, sinto-me tão apertada
como aqueles pijamas. Não tenho medo do calor, nem mesmo do gelo do Inverno. A Rhoda sonha, chupando uma côdea de pão embebida em leite; com um olhar vítreo, o Louis
fita a parede em frente; o Bernard esfarela o pão até o transformar em migalhas, às quais chama pessoas. O Neville, com aqueles modos arruinados e definitivos, já
acabou. Enrolou o guardanapo e enfiou-o na argola de prata. A Jinny faz girar os dedos na toalha, tal como se estivessem a dançar ao pôr do Sol, a fazer piruetas.
Mas eu não tenho medo nem do calor do Sol nem do gelo do Inverno.
– Agora – disse Louis –, todos nos levantamos; todos nos pomos de pé. A Miss Curry abre o livro negro no harmônio. É difícil não chorar quando cantamos, quando
pedimos a Deus que nos proteja durante o sono, chamando-nos criancinhas a nós mesmos. Quando estamos tristes e a tremer de apreensão, é bom cantarmos juntos e apoiarmo-nos
uns aos outros, eu contra a Susan e a Susan contra o Bernard, de mãos dadas, com medo de muitas coisas, eu, da minha pronúncia, a Rhoda, das contas; contudo, cheios
de vontade de vencer.
– Subimos as escadas como se fôssemos pôneis – disse Bernard –, a bater os pés, aos pulos, uns atrás dos outros, prontos a entrar na casa de banho. Lutamos,
brigamos, saltamos para cima e para baixo nas camas duras e brancas. Chegou a minha vez. Entro.
A Mrs. Constable, embrulhada numa toalha, pega na sua esponja cor de limão e mergulha-a na água; aquela ganha uma aparência achocolatada; pinga; e, segurando-a
bem por cima de mim, espreme-a. A água corre pelo meio das minhas costas. Sinto picadas brilhantes por toda a parte. Estou coberto por carne quente. As minhas fendas
secas estão agora molhadas; o meu corpo frio foi aquecido; está inundado e brilhante. A água desliza por mim e ensopa-me como a uma enguia. Vejo-me agora envolto
em toalhas quentes, e a sua superfície rugosa faz com que o meu sangue ronrone quando me esfrego. No topo do meu cérebro formam-se sensações ricas e pesadas; o dia
vai-se escoando – as matas; e Elvedon; a Susan e a pomba. Escorrendo pelas paredes da mente, o dia esvai-se, copioso, resplandecente. Aperto o pijama e deito-me
por baixo deste fino lençol, flutuando numa luz pálida que lembra uma película de água que me chegou aos olhos trazida por uma vaga. Ouço muito para lá dela, um
som distante e fraco, o começo de um cântico; rodas, cães; homens a gritar; sinos de igreja; o começo de um cântico.
– No momento em que dobro o vestido – disse Rhoda–, ponho de parte o desejo impossível de ser a Susan, de ser a Jinny. Contudo, sei que vou esticar os pés
para que possam tocar na barra da cama; quando a tocar, ficarei mais segura por sentir qualquer coisa de sólido. Agora, já não me posso afundar, agora, já não posso
cair através do lençol. Agora, estendo o corpo neste frágil colchão e fico suspensa. Estou por cima da terra. Já não estou de pé, já não me podem derrubar nem estragar.
E tudo é mole, maleável. As paredes e os armários tornam-se muito claros e dobram os cantos amarelados, no topo dos quais brilha um espelho pálido. Fora de mim,
a minha mente pode divagar. Penso na armada que deixei a vogar nas ondas. Estou livre de contactos e colisões. Navego sozinha por baixo dos rochedos brancos. Oh,
mas estou-me a afundar, a cair! Aquilo é o canto do armário; isto é o espelho do quarto das crianças. Porém, eles distendem-se, alongam-se. Afundo-me nas plumas
negras do sono; são asas pesadas aquilo que tenho pregado aos olhos. Viajando através da escuridão, vejo os compridos canteiros, e, de repente, Mrs. Constable aparece
por detrás da erva alta para dizer que a minha tia me veio buscar de carruagem. Monto; escapo; elevo-me nos ares, saltando com as minhas botas de saltos de mola.
Todavia, acabo por cair na carruagem que está à porta, onde ela se senta abanando as plumas amarelas, os olhos tão duros como berlindes gelados. Oh, desperto do
meu sonho! Olha, ali está a cômoda. É melhor sair destas águas. Mas elas amontoam-se à minha volta, arrastam-se por entre os seus grandes ombros; fazem-me virar;
fazem-me tombar; fazem-me estender por entre estas luzes esguias, estas ondas enormes, estes caminhos sem fim, com gente a perseguir-me, a perseguir-me.
O Sol elevou-se um pouco mais. Ondas azuis, ondas verdes, todas elas se abrem num rápido leque por sobre a praia, contornando o pontão coberto por azevinho-do-mar
e deixando pequenas poças de luz aqui e ali, espalhadas na areia. Deixam atrás de si uma tênue linha desmaiada. As rochas que antes eram tênues e de contornos mal
definidos, são agora marcadas por fendas vermelhas.
A erva tinge-se de riscas sombrias, e o orvalho, dançando na ponta das flores e das árvores, transformou o jardim num mosaico composto por brilhos isolados
que ainda não constituem um todo. As aves, com os peitos manchados de rosa e amarelo, ensaiam agora um ou outro acorde em conjunto, de forma selvagem, como grupos
de patinadores, até acabarem por se calar subitamente, afastando-se.
O Sol fez poisar lâminas ainda mais largas na casa. A luz toca em qualquer coisa verde poisada no canto da janela, transformando-a num pedaço de esmeralda,
numa gruta de um verde puro semelhante a um fruto suave. Tornou mais nítidos os contornos das mesas e das cadeiras, traçando fios dourados nas toalhas brancas. À
medida que a luz aumentava, aqui e ali, os botões iam despertando, transformando-se em flores cobertas de veios verdes, tremulas, como se o esforço que fizeram para
se abrir as obrigasse a abanar. Tudo se transformou numa massa amorfa, como se a louça dos pratos flutuasse e o aço das facas se tivesse tornado líquido. Enquanto
isso, o bater das ondas provocava um ruído abafado, semelhante ao dos toros quando caem, e que se espalhava pela praia.
– Agora – disse Bernard –, chegou a hora. Estamos no dia aprazado. O táxi está à porta. O meu enorme malão torna ainda mais arquejadas as pernas do George.
A horrível cerimônia chegou ao fim, os conselhos e as despedidas junto à porta. Agora, é a cerimônia das lágrimas, levada a cabo pela minha mãe, agora, é a cerimônia
do aperto de mão, levada a cabo pelo meu pai; agora, vou ter de continuar a acenar, pelo menos até dobrarmos a esquina. Mas até mesmo essa cerimônia chegou ao fim.
Deus seja louvado, todas as cerimônias chegaram ao fim.
Estou só. Vou à escola pela primeira vez. Toda a gente parece estar a agir de acordo com o momento presente; nunca mais. Nunca mais. A urgência de tudo isto
é assustadora. Todos sabem que vou à escola pela primeira vez. “Aquele rapaz vai à escola pela primeira vez”, diz a criada, limpando os degraus. Não devo chorar,
devo encará-los com indiferença. Agora, os horríveis portões da estação abrem-se de par em par; “o relógio com cara de lua olha-me”. Vejo-me obrigado a fazer frases
e frases, colocando assim qualquer coisa de concreto entre mim e o olhar das criadas, dos relógios, de todos aqueles rostos indiferentes. Se não o fizer, ver-me-ei
obrigado a chorar. Lá está o Louis. Lá está o Neville. Estão ambos junto às bilheteiras, envergando casacos compridos e transportando as suas malas. Têm um ar composto.
Apesar disso, estão diferentes.
– Aqui, está o Bernard – disse Louis. – Tem um ar composto; está à vontade. Abana a mala à medida que caminha. Dado que não tem medo de nada, o melhor que
tenho a fazer é segui-lo. Somos arrastados até à plataforma como se mais não fôssemos que galhos e palhinhas que a corrente faz girar em torno dos pilares de uma
ponte. Lá está aquela enorme máquina, poderosa, verde-garrafa, a soprar vapor. O guarda faz soar o apito; a bandeira é descida; sem qualquer esforço, no momento
exacto, como uma avalancha provocada por um pequeno empurrão, começamos a avançar. O Bernard estende uma manta e começa a estalar os dedos. O Neville lê. Londres
estremece. Londres eleva-se e ondula. Ali, vê-se um amontoado de torres e chaminés. Ali, uma igreja branca; ali, um mastro por entre as espirais. Ali, um canal.
Agora, surgem espaços abertos com caminhos de asfalto onde é estranho as pessoas andarem. Daquele lado, há uma colina manchada de casas vermelhas. Um homem atravessa
a ponte com um cão colado aos calcanhares. Agora, um rapaz vestido de vermelho dispara contra um faisão. Um outro, vestido de azul, dá-lhe um empurrão. O meu tio
é o melhor caçador de Inglaterra. O meu primo é o mestre da Liga dos Caçadores de Raposas. Começam as gabarolices. Só eu não me posso gabar, pois o meu pai é banqueiro
em Brisbane e falo com sotaque australiano.
– Depois de todo este reboliço – disse Neville –, depois de toda esta correria e reboliço, acabamos por chegar. Trata-se de um grande momento – de facto, trata-se
de um momento solene. Sinto-me como um Lord a entrar nos aposentos que lhe foram destinados. Aquele é o nosso fundador; o nosso ilustre fundador; e está colocado
no átrio com um dos pés levantados. Um ar austero e imperial paira por sobre estes pátios. As salas da frente têm as luzes acesas. Ali, devem ser os laboratórios;
ali a biblioteca. Será lá que explorarei as certezas do latim, que me sentirei à vontade nas frases bem construídas que lhe são características, e pronunciarei na
perfeição os hexâmetros sonoros de Virgílio e Lucrécio; e cantarei com grande paixão os amores de Catulo, tendo nas mãos um grande livro, um in-quarto com margens.
Para mais, deitar-me-ei nos campos, por entre as ervas. Deitar-me-ei com os meus amigos por baixo dos ulmeiros imponentes.
Reparem, lá está o director. Bom, o certo é que ele vem despertar o meu sentido do ridículo. É esguio em demasia. Para mais, é demasiado escuro e brilhante.
Parece as estátuas dos jardins. E, no lado esquerdo do colete, daquele colete esticado, sem uma ruga, pende um crucifixo.
– O velho Crane – diz Bernard – levanta-se para nos cumprimentar. O velho Crane, o director, tem um nariz que lembra uma montanha ao pôr do Sol, e a fenda
azul que lhe enfeita o queixo é como uma ravina coberta de árvores a quem tivessem lançado o fogo. Baloiça-se ligeiramente, pronunciando palavras imponentes e sonoras.
Adoro palavras imponentes e sonoras. Contudo, aquilo que ele diz é demasiado sincero para ser verdadeiro. Mesmo assim, está convencido de que fala verdade. E, quando
abandona a sala cambaleando pesadamente de um lado para o outro, depois do que passa por uma porta de vaivém, todos os professores lhe seguem o exemplo, cambaleando
pesadamente de um lado para o outro, passando a porta de vaivém. Trata-se da nossa primeira noite na escola, longe das nossas irmãs.
– Este é o meu primeiro dia na escola – disse Susan –, longe do meu pai, longe de casa. Tenho os olhos inchados; as lágrimas fazem-me arder os olhos. Odeio
o cheiro a pinheiro e a linóleo. Odeio os arbustos batidos pelo vento e os azulejos da casa de banho. Odeio os ditos divertidos e o olhar espantado de todos. Deixei
o meu esquilo e as minhas pombas a um rapaz, para que cuidasse dos animais. A porta da cozinha bate com força, e entre as folhas elevam-se disparos. É Percy, disparando
contra as gralhas. Tudo aqui é falso; tudo é prostituído. Vestidas de sarja castanha, Rhoda e Jinny estão sentadas do outro lado, a olhar para Miss Lambert, sentada
por baixo de um quarto onde se vê a rainha Alexandra a ler. Vê-se ainda um rolo azul. Trata-se do bordado de alguma das raparigas mais velhas. Se não aperto os dentes,
se não cravo os dedos no lenço, por certo que começo a chorar.
– A luz vermelha – disse Rhoda – , no anel de Miss Lambert move-se de um lado para o outro na mancha negra existente na página branca do livro de Orações.
É uma luz avinhada, amorosa. Agora que as nossas malas já foram desfeitas e tudo está nos dormitórios, sentamo-nos muito quietas por baixo de mapas de todo o mundo.
Há secretárias com poços cheios de tinta. Aqui, vamos ter de passar a fazer exercícios a tinta. Porém, aqui ninguém sou. Não tenho rosto. Esta gente, vestida de
sarja castanha, rouba-me a identidade. Somos todas frias, indiferentes. Terei de procurar um rosto, um rosto monumental e composto, dotá-lo com o dom da omnisciência
e usá-lo por baixo do vestido como se de um amuleto se tratasse. Só depois (prometo) encontrarei uma fresta na madeira onde esconderei a minha colecção de tesouros
curiosos. Prometo-o a mim mesma. É por isso que não vou chorar.
– Aquela mulher morena – disse Jinny – , com as maçãs do rosto bastante altas, tem um vestido brilhante como uma concha repleta de veios, próprio para usar
à noite. É bom para o Verão, mas para o Inverno gostava de ter um vestido muito fino, com laços vermelhos, destinado a brilhar à luz da lareira. Então, quando as
lâmpadas se acendessem, vestiria o meu vestido vermelho, fino como um véu, e entraria na sala, leve como uma pluma, a dançar. Quando me sentasse no meio da sala,
numa cadeira dourada, ficaria parecida com uma flor. Mas a Miss Lambert tem um vestido opaco, que lhe cai numa espécie de cascata a partir daquela gola branca. É
ela que está sentada por baixo do retrato da rainha Alexandra, pressionando o dedo com força contra a página. E nós rezamos.
– E lá vamos nós aos pares – disse Louis –, ordeiramente, marchando rumo à capela. Gosto da obscuridade que nos envolve quando chegamos ao edifício sagrado.
Gosto desta progressão ordenada. Formamos uma fila; sentamo-nos. Pomos de parte as diferenças quando aqui entramos. Gosto deste preciso momento, quando, a tropeçar,
o Dr. Crane sobe o púlpito e lê a lição a partir de uma Bíblia aberta nas costas de uma águia de bronze. Rejubilo; o meu coração aumenta ao ouvi-lo, ao escutar as
suas palavras autoritárias. Espalha nuvens de poeira na minha mente, tremula e ignominiosamente agitada, o modo como dançávamos em torno da árvore de Natal, recebendo
presentes, e de como descobri terem-se esquecido de mim. Ao se aperceber disto, uma mulher gorda disse: “Este rapazinho não recebeu presentes”, tendo-me depois entregue
um dos enfeites da árvore, e eu chorei de raiva, por terem pena de mim. Agora, o seu crucifixo, a sua autoridade, tudo põe ordem nas coisas, e eu volto a sentir
a terra que piso, e as minhas raízes descem cada vez mais até se enrolarem em torno de qualquer coisa de sólido que está lá bem no centro. À medida que ele lê, recupero
o sentido de continuidade. Transformo-me numa das figuras da procissão, um dos elementos daquela enorme roda que não pára de girar, elevando-me de vez em quando.
Tenho estado às escuras; tenho estado escondido; mas quando a roda gira (quando ele lê) elevo-me até esta luz difusa onde quase mal me apercebo de um grupo de rapazes
ajoelhados, e de uma série de pilares e placas fúnebres.
Aqui, não há qualquer espécie de crueza, de beijos rápidos.
– Aquele animal ameaça a minha liberdade sempre que reza – disse Neville. – Desprovidas de imaginação, as suas palavras atingem-me como pedras da calçada,
mais ou menos ao mesmo ritmo que a cruz doirada que traz à cintura baloiça.
As palavras de autoridade são corrompidas por aqueles que as pronunciam. Zombo e troço desta triste religião, destas figuras tristes e abatidas pela dor, cadavéricas
e feridas, que vão descendo um caminho esbranquiçado, ladeado por figueiras, e onde um bando de garotos se rebola no pó, garotos nus; e os odres de pele de cabra
onde se guarda o vinho estão pendurados à porta das tabernas. Estive em Roma com o meu pai durante a Páscoa, e vi a figura tremula da mãe de Cristo ser transportada
aos solavancos pelas ruas, o mesmo se passando com um Cristo abatido dentro de uma redoma de vidro.
Agora, vou-me inclinar para o lado como se fosse coçar a perna. E a única maneira que tenho de ver o Percival. Lá está ele, sentado no meio dos mais pequenos.
Respira com alguma dificuldade através do nariz. Os olhos azuis, estranhamente inexpressivos, fixam-se com uma indiferença pagã no pilar em frente. Dará um magnífico
funcionário da igreja. Dar-lhe-ão uma vara para que possa bater aos rapazinhos que se portem mal. É um dos aliados das frases latinas escritas no memorial de bronze.
Nada vê; nada ouve. Está longe de todos nós, num universo pagão. Mas olhem – acaba de levar a mão à nuca.
São gestos como estes que provocam paixões eternas, desesperadas. O Dalton, o Jones, o Edgar e o Bateman também levam as mãos ao pescoço. Mas não é a mesma
coisa.
– Por fim – disse Bernard – , o ruído pára. O sermão termina. Ele falou com elegância a respeito do voo das borboletas. A sua voz dura e hirsuta é como um
queixo por barbear. Volta agora aos tropeções para a cadeira. Parece um marinheiro embriagado. Trata-se de uma acção que todos os outros mestres tentarão imitar;
mas, e dado serem fracos, dado serem moles e usarem calças cinzentas, nunca conseguirão ser ridículos. Não os vou desprezar. As suas bizarrias são dignas de pena.
Trata-se de mais um entre os muitos factos que registrarei no meu livro de notas, com vista a consultas futuras. Quando for grande, andarei sempre com um bloco-notas,
um bloco bastante grande e com muitas páginas, todas metodicamente organizadas por ordem alfabética. Tomarei nota de todas as frases. Na letra B colocarei pó de
borboleta. Se, no meu livro, descrever o sol poisado no parapeito da janela, procurarei na letra B de pó de borboleta. Ser-me-á de grande utilidade. As folhas verdes
das árvores projectam os seus dedos esguios na janela. Ser-me-á útil. Mas caramba! Distraio-me com tanta facilidade, por causa de um cabelo torcido como um chupa-chupa,
pelo livro de orações da Celia, revestido a marfim. O Louis pode contemplar a natureza durante horas; sem pestanejar. Contudo, só sou capaz de o fazer se falarem
comigo. O lago da minha mente, onde não há vestígio de remos, é tão liso como um espelho, e não demora muito a se afundar numa sonolência oleosa. Ser-me-á bastante
útil.
– E lá vamos nós a sair deste templo sombrio, de volta aos pátios amarelos – disse Louis. – E, dado estarmos num feriado (é o aniversário do Duque), iremos
sentar-nos na erva alta enquanto eles jogam críquete. Se assim o quisesse, podia ser um deles; poria as caneleiras e correria pelo campo, na direcção do distribuidor.
Reparem só como todos vão atrás do Percival. É um indivíduo grande. Desce o campo de forma desajeitada, atravessa a erva alta e dirige-se para junto dos ulmeiros.
A sua magnificência assemelha-se à de um chefe medieval. Um rasto de luz parece segui-lo pela erva. Reparem no modo como o seguimos, nós, os seus fiéis seguidores,
apenas para sermos abatidos como carneiros, pois, por certo que ele nos arrastará para uma empresa arriscada, durante a qual acabaremos por perder a vida. O meu
coração endurece; transforma-se numa faca de dois gumes: de um lado, a adoração que tenho pela sua magnificência; do outro, o desprezo que nutro pela forma pouco
cuidada como fala, eu, que lhe sou superior em todos os aspectos, e invejo-o.
– E agora – disse Neville –, deixemos o Bernard começar. Ele que nos conte histórias enquanto aqui estamos deitados. Ele que descreva aquilo que todos vimos
até que os factos formem uma sequência. O Bernard diz que tudo tem uma história. Eu sou uma história. O Louis é outra história. Há ainda a história do rapaz do barco,
a do homem só com um olho, e a da mulher que vende moluscos. Ele que gagueje as suas histórias enquanto me deito de costas e, através da erva que estremece, e olho
para as pernas hirtas dos distribuidores, enfeitadas de caneleiras. É como se o mundo inteiro se curvasse e flutuasse, as árvores na terra, as nuvens no céu. Olho
através das árvores e vejo o céu. Dá a impressão de que é lá que estão a jogar. Por entre as nuvens brancas e fofas chegam-me algumas frases aos ouvidos: Corre,
e Como é que isso é possível. À medida que o vento as descompõe, as nuvens vão perdendo tufos de brancura. Se aquele azul pudesse ficar sempre assim; se aquele buraco
pudesse ficar sempre assim; se este momento pudesse ser eterno...
Mas o Bernard continua a falar. E lá vão elas a subir – as imagens. “Como um camelo”... “um abutre”. O camelo é um abutre; o abutre é um camelo; não nos devemos
esquecer que o Bernard é como um fio solto, sempre a estremecer, mas bastante sedutor. Sim, porque quando ele fala, quando faz estas comparações idiotas, uma espécie
de leveza cai sobre nós.
Sentimo-nos flutuar como se fôssemos bolas de sabão; sentimo-nos livres; “escapei-me”, sentimos. Até mesmo os rapazes mais pequenos (o Dalton, o Larpente e
o Baker) sentem o mesmo abandono. Gostam mais disto que do críquete. Apanham as frases quando estas se elevam. Deixam que as ervas lhes façam cócegas no nariz. E
é então que sentimos o Percival sentar-se pesadamente ao nosso lado. As suas gargalhadas grosseiras parecem repreender o nosso riso. No entanto, ele agora estirou-se
em cima da erva. Penso que está a morder um qualquer caule. Está aborrecido; e também me sinto aborrecido. O Bernard de pronto se apercebe do facto. Detecto um certo
esforço, uma certa extravagância nas suas palavras, como se quisesse dizer “Olhem!”, mas o Percival diz “Não”. Claro que ele é sempre o primeiro a detectar a insinceridade,
sendo terrivelmente brutal. A frase vai morrendo aos poucos. Sim, chegou o momento horrível em que os poderes do Bernard o abandonam e a sequência deixa de ter sentido.
Ele gagueja e acaba por parar, arquejando, como se estivesse prestes a irromper em pranto. Entre as torturas e devastações da vida encontra-se esta: a de os nossos
amigos não serem capazes de concluir as suas histórias.
– Antes de nos levantarmos – disse Louis –, antes de irmos lanchar, deixa-me fazer o esforço supremo e tentar fixar o momento. Isto durará para sempre. Separamo-nos;
alguns vão lanchar; outros dormir a sesta; eu vou mostrar o meu ensaio a Mr. Baker. Isto durará para sempre. A partir da discórdia, do ódio (desprezo todos os que
se ocupam de imagens só para passar o tempo, ressinto-me bastante do poder do Percival), a minha mente desunida volta a ligar-se devido a uma súbita percepção. Peço
às árvores e às nuvens que testemunhem a minha completa integração. Eu, Louis, eu, que andarei na terra durante os próximos setenta anos, renasci inteiro a partir
do ódio e da discórdia. Aqui, neste círculo de erva, sentamo-nos juntos devido ao enorme poder de uma compulsão interior. As árvores estremecem, as nuvens passam.
Aproxima-se o momento em que estes solilóquios serão partilhados. Não ficaremos para sempre a produzir sons semelhantes às batidas de um gongo, cada pancada seguindo-se
a uma nova sensação. Crianças, as nossas vidas assemelham-se a pancadas de gongos; clamores e bazófias; gritos de desespero; pancadas na nuca desferidas nos jardins.
Agora, a erva e as árvores, o ar viajante que com o seu sopro abre espaços vazios no azul apenas para os voltar a fechar, as folhas tremulas que se sobrepõem
umas às outras, e o círculo por nós formado, os braços em torno dos joelhos, tudo isto aponta para uma ordem nova e melhor, a qual torna a ser razão eterna. Percepciono
isto durante um segundo, e esta noite tentarei fixá-lo em palavras, forjar uma espécie de anel de aço, muito embora o Percival o destrua quando avança por entre
a erva, seguido pela sua corte de servidores mais pequenos. Contudo, é do Percival que preciso, pois é ele quem inspira a poesia.
– Há quantos meses – disse Susan –, há quantos anos ando a subir estas escadas, tanto nos dias escuros de Inverno como nos dias gelados de Primavera? Estamos
agora no pino do Verão. Temos de ir lá acima pôr os vestidos brancos próprios para jogar tênis, a Jinny e eu, e a Rhoda atrás de nós. Conto os degraus à medida que
os subo, e logo os considero como coisas acabadas. É por isso que todas as noites arranco o dia velho do calendário e o amachuco até ele se transformar numa bola.
Faço isto por vingança, enquanto a Betty e a Clara estão de joelhos. Eu não rezo. Vingo-me do dia. Descarrego o meu ódio na sua imagem. “Estás morto”, digo, dia
de escola, dia odiado. Fizeram com que todos os dias de Junho, este é o vigésimo quinto, fossem brilhantes e ordenados, com gongos, aulas, ordens para nos lavarmos,
para mudarmos de roupa, para comermos, para trabalharmos. Ouvimos os missionários da China. Levam-nos de automóvel a ver concertos em grandes salões. Mostram-nos
galerias e quadros.
Lá em casa, o feno ondula nos prados. O meu pai está encostado à vedação, a fumar. Dentro de casa, as portas batem uma a seguir à outra, devido às correntes
de ar que circulam pelas passagens vazias. Alguns dos quadros velhos talvez se baloicem nas paredes. Há uma pétala de rosa a cair de uma jarra. As carroças da quinta
espalham tufos de feno pela sebe. Vejo tudo isto (é aquilo que sempre vejo) quando passo pelo espelho do andar térreo, com a Jinny à frente e a Rhoda atrás. A Jinny
dança. Nunca pára de dançar, nem mesmo nas feias tijoleiras da entrada; vira os carrinhos que estão no recreio; apanha as flores às escondidas e coloca-as atrás
da orelha, o que faz com que os olhos escuros da Miss Perry se abram de admiração. Pela Jinny, claro, não por mim. A Miss Perry adora, e talvez eu mesma a pudesse
ter adorado, só que não amo mais ninguém para além do meu pai, das minhas pombas e do esquilo que deixei em casa, aos cuidados de um rapaz.
– Odeio o espelho pequenino da escada – disse Jinny. – Mostra apenas as nossas cabeças. Decapita-nos. E os meus olhos são demasiado juntos, a minha boca é
demasiado grande; mostro as gengivas quando rio. A cabeça da Susan, com o seu aspecto bravio e os seus olhos verde-musgo, que, e de acordo com o Bernard, estão destinados
a ser amados pelos poetas, porque se fixam nas coisas, põe a minha a um canto. Até mesmo o rosto da Rhoda, redondo, vazio, está completo, mais ou menos como as pétalas
que ela costumava baloiçar na taça. É por isso que lhes passo à frente e me precipito para o andar seguinte, onde está pendurado um espelho muito maior, onde me
posso ver inteira. Vejo o meu corpo e a minha cabeça; pois que mesmo com este vestido de sarja eles são unos, o corpo e a cabeça. Reparem, o simples facto de mexer
a cabeça faz com que todo o corpo ondule; até mesmo as minhas pernas magras ondulam como caules ao vento. Brilho entre o rosto bem definido da Susan e a imprecisão
da Rhoda; elevo-me como uma dessas chamas que correm por entre as fendas da terra; movo-me; danço; nunca paro de me mover nem de dançar. Movo-me como se moveu aquela
folha na vedação, quando eu era criança, assustando-me. Danço por sobre estas paredes manchadas, impessoais, que ganham uma coloração amarelada sempre que a luz
do lume paira por sobre os bules do chá. Desperto o fogo mesmo nos olhares mais finos das mulheres. Quando leio, uma orla vermelha bem delimitar os contornos negros
do livro. Contudo, não posso acompanhar todas as mudanças das palavras. Não consigo acompanhar uma linha de pensamento que se dirija do presente para o passado.
Não me posso perder, como a Susan, com as lágrimas nos olhos, lembrando-se de casa; ou deitar-me, como a Rhoda, entre os fetos, manchando de verde o meu vestido
cor-de-rosa, enquanto sonho a respeito de plantas que florescem debaixo das águas do mar, e de rochas por entre as quais os peixes nadam devagar. Para ser franca,
nem sequer sonho.
Bom, vamos lá a despachar. Deixa-me ser a primeira a tirar estas roupas ásperas. Aqui, estão as minhas meias brancas, impecavelmente limpas. Aqui, estão os
meus sapatos novos. Vou atar uma fita ao cabelo para que, quando correr pelo court, ela brilhe com a velocidade de um relâmpago, sem, no entanto, sair do seu lugar.
Nem um só cabelo ficará em desalinho.
– Esta é a minha cara – disse Rhoda –, a cara que aparece por detrás do ombro da Susan sempre que passamos frente ao espelho. Bom, não há dúvida de que se
trata da minha cara. Mas eu vou-me esconder atrás dela para a tapar, pois não estou aqui. Não tenho rosto. As outras pessoas têm-no; a Susan e a Jinny têm rostos;
estão aqui. O mundo delas é um mundo real. As coisas em que pegam são pesadas. Dizem Sim, dizem Não. Enquanto isso, eu estou sempre a mudar e desapareço num segundo.
Se se cruzam com uma das criadas, estas nunca se riem delas. Mas riem-se de mim. Elas sabem o que dizer. Elas riem de verdade, elas zangam-se de verdade.
Enquanto isso, eu tenho de ver primeiro o que as outras pessoas fazem para depois as imitar.
Reparem só na extraordinária convicção com que a Jinny puxa as meias, e isto apenas para jogar tênis. Admiro-a por isso. Mas gosto ainda mais dos modos da
Susan, já que é mais resoluta e menos ambiciosa que a Jinny. Ambas me desprezam por as imitar, mas às vezes a Susan ensina-me a fazer algumas coisas, por exemplo,
a apertar um laço, ao passo que a Jinny guarda tudo o que sabe para si mesma. Ambas têm amigas ao lado de quem se sentam. Mas eu apenas me ligo a nomes e a rostos,
usando-os como amuletos contra os desastres. Escolho uma cara desconhecida de entre todas as que se encontram do lado oposto ao que me encontro, e mal consigo beber
o chá quando aquela cujo nome desconheço se senta à minha frente. Sufoco. A emoção faz-me abanar de um lado para o outro.
Imagino toda esta gente anônima e imaculada a espreitar-me por detrás dos arbustos. Elevo-me nos ares para lhes fazer aumentar a admiração. De noite, na cama,
faço-as pasmar por completo. É com frequência que morro cravejada de setas apenas para as fazer chorar. Se elas dizem, ou se vê através de uma das etiquetas das
malas, que estiveram em Scarborough durante as últimas férias, a cidade resplandece, as ruas tornam-se douradas. É por isso que odeio os espelhos que mostram o meu
verdadeiro rosto. Quando estou só, é com frequência que me deixo cair no vazio. Tenho de ter cuidado e ver onde ponho os pés, não vá tropeçar na orla do mundo e
cair no vazio. Tenho de bater com a cabeça nas paredes para poder voltar ao meu próprio corpo.
– Estamos atrasadas – disse Susan. – Temos de esperar pela nossa vez de jogar. Enquanto isso, vamos ficar na erva a fingir que estamos a ver a Jinny e a Clara,
a Betty e a Mavis. Mas o certo é que não lhes prestamos a mais pequena atenção. Odeio ver os outros jogar. Vou construir imagens de tudo aquilo que odeio e enterrá-las
no chão. Este seixo brilhante é a Madame Carlo, e vou enterrá-la devido aos seus modos insinuantes, e também por causa dos seis dinheiros que me deu por não ter
dobrado os dedos quando praticava as escalas. Enterrei os seis dinheiros. Enterraria toda a escola: o ginásio, a sala de aulas, a sala de jantar que cheira sempre
a carne; e a capela. Enterraria as tijoleiras vermelhas e os retratos a óleo de todos aqueles velhos, benfeitores, fundadores da escola. Gosto de algumas árvores;
da cerejeira e dos montes de seiva clara que se acumulam na sua casca; e das montanhas distantes que se vêem de uma das janelas do sótão. Fora isso, enterraria tudo
o mais como enterro estas feias pedras que se encontram por toda esta costa salgada, com os seus molhes e turistas. Lá em casa, as ondas têm milhas de comprimento.
Ouvimo-las ribombar nas noites de Inverno. No Natal passado, um homem afogou-se quando estava sozinho na sua carroça.
– Quando a Miss Lambert passa – disse Rhoda –, a conversar com o vigário, todos se riem e imitam a corcunda que ela tem nas costas. Contudo, as coisas todas
mudam e ficam luminosas. Até mesmo a Jinny salta mais alto à sua passagem. Se ela olhar para aquela margarida, esta muda. Para onde quer que vá, tudo se altera debaixo
dos seus olhos; e, no entanto, depois de ela partir, será que as coisas não voltam a ser o que eram? Miss Lambert conduz o vigário através do portão e fá-lo entrar
no seu jardim particular; e, quando alcançam o lago, ela vê um sapo num nenúfar, e também isso muda. Tudo é solene, tudo é pálido no local onde ela se encontra,
semelhante a uma estátua no jardim. Acaba por deixar cair a capa de seda enfeitada com borlas, e só o seu anel cor de púrpura continua a brilhar, o seu anel cor
de vinho, cor de ametista. Quando as pessoas nos deixam, atrás delas fica sempre um rasto de mistério. Quando a Miss Lambert passa, as margaridas ficam diferentes;
e, quando trincha a carne, à sua volta elevam-se chispas de fogo. Mês após mês, as coisas começaram a perder a sua dureza; até mesmo o meu corpo começa a deixar
passar a luz; a minha espinha está macia como um pedaço de cera colocado junto à chama de uma vela. Sonho; sonho.
– Ganhei o jogo – disse Jinny – Agora, é a vossa vez. Tenho de me atirar para o chão e arfar. A corrida e o triunfo deixaram-me sem fôlego. A corrida e o triunfo
parecem ter gasto tudo o que tinha no corpo. O meu sangue deve ser agora de um vermelho muito vivo, saltando e batendo de encontro às veias. Sinto picadas na sola
dos pés, mais ou menos como se lhes estivessem a espetar fios de metal. Distingo com grande clareza os recortes de todas as ervas. Mas o sangue pulsa-me com tanta
força nas têmporas, por detrás dos olhos, que tudo parece dançar, a rede, a erva; os vossos rostos palpitam como borboletas, as árvores parecem saltar para cima
e para baixo. Neste universo não existe nada de estável, nada de imóvel. Tudo se move, tudo dança; tudo é rapidez e triunfo. Só que, depois de me ter deitado sozinha
no solo duro, a ver-vos jogar, começo a sentir vontade de ser escolhida, de ser chamada, de que uma pessoa me venha buscar de propósito, de alguém que se sinta atraído
por mim e que venha ter comigo sempre que me sento na minha cadeira dourada, com o vestido caindo à minha volta como se fosse uma flor. E, retirando-nos para longe
da multidão, sentar-nos-emos na varanda, a conversar.
Agora, a maré acaba por baixar. As árvores aproximam-se da terra; as ondas bravias que fustigam as minhas veias começam a agitar-se mais devagar, e o meu coração
prepara-se para ancorar, como um veleiro, cujas velas se recolhem e caem por sobre um convés imaculado. O jogo terminou. Está na hora de ir lanchar.
– Os gabarolas – disse Louis –, acabaram de formar uma enorme equipa para jogar críquete. Afastaram-se, cantando a plenos pulmões.Todas as cabeças se viram
ao mesmo tempo quando chegam àquela esquina, ali, onde estão os loureiros. Já se começaram a gabar. O irmão do Larpent jogou futebol pela equipa de Oxford; o pai
do Smith pertenceu à centúria dos Lordes. O Archie e o Hugh; o Parker e o Dalton; o Larpent e o Smith, os nomes vão-se repetindo; os nomes são sempre os mesmos.
Eles são os voluntários; são os jogadores de críquete; são os funcionários da Natural History Society. Andam sempre em grupos de quatro e marcham em bandos com insígnias
nos bonés; e, sempre que passam pelo chefe, saúdam-no em uníssono. Como a sua ordem é majestosa, como a sua obediência é bela! Se pudesse, sacrificaria tudo para
estar com eles. Contudo, são também eles que arrancam as asas às borboletas; são eles que atiram lenços manchados de sangue para os cantos. São eles quem fazem soluçar
os garotos pequenos nas passagens escuras. Têm orelhas grandes e vermelhas que lhes saem dos bonés. Mesmo assim, é com eles que eu e o Neville nos queremos parecer!
É com inveja que os vejo partir. A espreitar atrás da cortina, delicio-me a observar o modo como avançam em simultâneo. Se as minhas pernas pudessem ter o poder
das deles, como correriam depressa! Se tivesse estado com eles, ganho desafios e participado em corridas importantes, com que força não cantaria quando chegasse
a meia-noite! Com que rapidez as palavras não jorrariam da minha garganta!
– O Percival já foi – disse Neville. – Não pensa em mais nada a não ser no jogo. Nunca acena quando a equipa vira a esquina, junto aos loureiros. Despreza-me
por ser demasiado fraco para jogar (muito embora a minha fraqueza lhes desperte simpatia). Despreza-me por não me importar com o facto de saber se ganharam ou perderam,
mas sim de apenas querer saber daquilo que lhe interessa. Aceita a minha devoção; aceita a minha oferta tremula (sem dúvida que abjecta), muito embora nela se encontre
uma certa dose de desprezo pela sua mente. É que ele não sabe ler. Mesmo assim, quando me deito na relva a ler Catulo ou Shakespeare, ele compreende tudo melhor
que o Louis. Não me estou a referir às palavras – afinal, que são elas? Não saberei já como rimar, como imitar Pope, Dryden, até mesmo Shakespeare? Contudo, não
posso estar todo o dia ao sol a olhar para a bola; não posso sentir os movimentos da bola através do meu corpo e pensar apenas nela. Viverei sempre agarrado aos
contornos das palavras. Todavia, seria incapaz de viver com ele e suportar toda a sua estupidez. Por certo que praguejará e ressonará. Acabará por casar e fazer
cenas de ternura durante o pequeno-almoço. Mas agora ainda é novo. É como uma folha de papel, e não como uma rede, aquilo que se estende entre ele e o mundo, entre
ele e a chuva, entre ele e a lua, quando se deita na cama, o corpo nu e quente. Agora, à medida que sobem o caminho, o seu rosto está manchado de vermelho e amarelo.
Acabará por despir o casaco e firmar-se de pernas abertas, as mãos prontas, os olhos postos nos três paus horizontais que se elevam no campo. Os seus lábios murmurarão
“Meu Deus faz com que ganhemos”; não pensará em outra coisa para além da vitória.
Como é que alguma vez me poderei juntar a uma equipa de críquete? Só o Bernard o poderia fazer, mas já é tarde demais para isso. Ele chega sempre tarde demais.
É a sua incorrigível melancolia que o impede de ir com eles. Quando lava as mãos, pára para dizer: “Está uma mosca naquela teia. Deverei libertá-la? Deverei deixar
que a aranha a coma?”. Preocupa-se com um sem-número de insignificâncias. Se assim não fosse, teria ido jogar críquete com eles, e talvez agora estivesse deitado
na relva, a olhar o céu, sobressaltando-se ao ouvir o som dos tacos a bater na bola. Mas, e dado que lhes contaria uma história, os outros acabariam por lhe perdoar.
– Já se foram embora – disse Bernard –, e eu atrasei-me demais e já não posso ir com eles. Aqueles rapazinhos horríveis, que também são muito belos, e de quem
tu e o Louis, Neville, têm tanta inveja, afastaram-se com as cabeças voltadas na mesma direcção. No entanto, não me apercebo destas diferenças profundas. Os meus
dedos percorrem as teclas sem se aperceberem quais as que são brancas e as que são pretas. O Archie não tem qualquer dificuldade em chegar às cem; eu só por sorte
consigo fazer quinze. Mas qual a diferença entre nós?
Espera um pouco, Neville, deixa-me falar. As bolhas vão-se elevando como as bolas prateadas que se elevam do fundo de uma frigideira; imagem atrás de imagem.
Não me consigo agarrar aos livros com a tenacidade feroz que caracteriza o Louis. Tenho de abrir a portinhola da ratoeira e deixar escapar estas frases ligadas umas
às outras, nas quais me movimento. Assim, e em vez de um sistema incoerente, vemos antes uma teia suave, capaz de unir as coisas umas às outras. Vou-te contar a
história do professor.
Quando, depois das orações, o Dr. Crane atravessa as portas de vaivém a cambalear, ficamos com a sensação de que ele está convencido da sua superioridade.
De facto, Neville, não podemos negar que a sua partida não só nos deixa com uma enorme sensação de alívio mas também com a impressão de que nos tiraram algo, por
exemplo, um dente. Vamos então segui-lo até aos seus aposentos. Vamos imaginá-lo no quarto que lhe pertence, por cima dos estábulos, a despir-se. Desaperta os elásticos
que lhe podem prender as meias (sejamos triviais, sejamos íntimos). Depois, com um gesto que lhe é peculiar (é difícil evitar estas frases feitas, e, neste caso
concreto quando elas até se mostram apropriadas), tira as moedas dos bolsos das calças e coloca-as aos molhos em cima da cômoda. Com os braços apoiados nos braços
da cadeira, reflecte (este é o seu momento de privacidade; é aqui que o devemos tentar apanhar): deverá ele atravessar a ponte cor-de-rosa que o leva até ao quarto
contíguo, ou não? Os dois quartos estão unidos por uma ponte de luz cor-de-rosa que vem do candeeiro colocado junto a Mrs. Crane que, com a cabeça apoiada na almofada,
lê um livro de memórias em francês. Enquanto lê, passa a mão pela testa num gesto de abandono e desespero, e suspira “é tudo?”, comparando-se a uma qualquer duquesa
francesa. Só faltam dois anos para me reformar, diz o director. Irei aparar sebes num jardim da zona ocidental do país. Poderia ter sido almirante; talvez mesmo
juiz; nunca um professor. Que forças, pergunta, olhando para o fogão a gás com os ombros ainda mais curvados que o costume (não te esqueças de que está em mangas
de camisa), me terão transformado nisto? Que forças poderosas, pensa, deixando-se levar pelas frases bombásticas de que tanto gosta, ao mesmo tempo que, por cima
do ombro, espreita pela janela. A noite é de tempestade, os ramos da avelaneira não param de andar para baixo e para cima. As estrelas brilham entre eles. Que forças
poderosas do bem e do mal me terão trazido até aqui?, pergunta, e, não sem algum desgosto, repara que o pé da cadeira fez um buraco na carpete vermelha. E ali está
ele sentado, a abanar os braços. Contudo, são difíceis as histórias que seguem as pessoas até aos seus quartos. Não consigo prosseguir esta história. Estou a brincar
com um cordel; viro as quatro ou cinco moedas que tenho no bolso das calças.
– No princípio, as histórias do Bernard divertem-me sempre – disse Neville. – Mas, quando terminam de forma absurda, e ele se cala, a brincar com um qualquer
pedaço de cordel, sinto a minha própria solidão. Ele vê todas as coisas com os contornos desmaiados. É por isso que não lhe posso falar do Percival. Não posso expor
a minha paixão absurda e violenta à sua simpatia compreensiva. Também ela serviria para fazer uma história. Preciso de alguém cuja mente caia como um machado no
seu cepo; para quem o cúmulo do absurdo seja sublime, e considere um simples atacador como algo digno de admiração. A quem poderei desvendar a urgência da minha
paixão? O Louis é demasiado frio, demasiado universal. Não há ninguém aqui entre estas arcadas cinzentas, estes tolos que se lamentam, estes jogos e animadas tradições,
tudo organizado com grande mestria para que não nos sintamos sós. Porém, vejo-me obrigado a parar enquanto caminho, assaltado por súbitas premonições relacionadas
com o que há-de vir Ontem, quando ia a passar o portão do pátio interior, vi o Fenwick levantar o malho. Uma nuvem de vapor elevava-se do bule de chá. Por toda a
parte se viam canteiros de flores azuis. Então, de repente, desceu sobre mim o sentido obscuro e místico da adoração, do uno que triunfa sobre o caos. Ninguém adivinhou
a necessidade que senti de oferecer o meu ser a um deus e depois perecer, desaparecer. O malho desceu; a visão quebrou-se.
Deverei sair ao encontro das árvores? Deverei abandonar estas salas e bibliotecas? Deverei abandonar as enormes páginas amarelas onde leio Catulo, trocando-as
por bosques e campos? Deverei caminhar por entre as faias, ou vaguear ao longo da margem do rio, onde as árvores se unem como amantes? Porém, a natureza é demasiado
vegetal, demasiado insípida. Limita-se a possuir água e folhas, vastidão e espaços sublimes. Começo a desejar uma lareira, um pouco de privacidade, e também os membros
de outra pessoa.
– Começo a desejar – disse Louis –, que a noite chegue. Enquanto aqui estou, a mão apoiada no painel de carvalho que constitui a porta de Mr. Wickham, imagino
que sou um dos amigos de Richelieu, ou mesmo o duque de St. Simon, estendendo ao rei uma caixa de rapé. Trata-se de um privilégio que é só meu. A minha inteligência
espalha-se pela corte como fogo. Admiradas, as duquesas despojam-se dos anéis de esmeralda, porém, estes foguetes elevam-se melhor na escuridão da noite, quando
estou no quarto. Não passo de um rapaz com um sotaque colonial que bate à porta de Mr. Wickham com os nós dos dedos. O dia revelou-se como algo cheio de triunfos
e humilhações que tive de esconder com medo do riso dos outros. Sou o melhor aluno da escola. Mas, quando a noite cai; despojo-me deste corpo insignificante, do
meu enorme nariz, dos lábios finos, da pronúncia típica das colônias, e ocupo espaço. Sou, então, o companheiro de Virgílio e Platão. Passo a ser o último descendente
de uma das grandes casas da França. Mas sou também aquele que se obriga a abandonar estas paragens desertas e iluminadas pelo luar, estes passeios nocturnos, confrontando-se
com portas de carvalho. Acabarei por conseguir, queira Deus que não demore muito, uma qualquer mistura destas duas discrepâncias, tão terrivelmente evidentes para
mim. Consegui-lo-ei com o meu sofrimento. Vou bater à porta. Vou entrar.
– Arranquei todos os dias de Maio e Junho – disse Susan –, e ainda vinte dias de Julho. Arranquei-os e amachuquei-os até nada mais serem que um punhado de
papéis a meu lado. Foram dias difíceis de passar, como borboletas de asas queimadas pelo sol, incapazes de voar. Já só faltam oito dias. Daqui a oito dias, às seis
e vinte e cinco, descerei do comboio e poisarei os pés na plataforma. Então, a minha liberdade desfraldará as velas, afastando para bem longe estas restrições que
queimam e enchem de pregas – horas de ordem e disciplina, e o estar aqui no momento preciso. O dia desabrochará no preciso momento em que abrir a porta da carruagem
e vir o meu pai, com o seu velho chapéu e polainas. Tremerei. Debulhar-me-ei em lágrimas. Depois, na manhã seguinte, levantar-me-ei ao amanhecer. Sairei pela porta
da cozinha. Irei passear na charneca. Os enormes cavalos dos cavaleiros fantasmas correrão atrás de mim apenas para parar subitamente. Verei a andorinha vasculhar
a erva, procurando alimento. Deixar-me-ei cair na margem do rio e ficarei a ver os peixes deslizar por entre as canas. As palmas das minhas mãos ficarão cheias de
marcas provocadas pelas agulhas dos pinheiros. Lá conseguirei tirar de dentro de mim aquilo que aqui foi construído; qualquer coisa dura. Sei que, ao longo dos invernos
e verões que aqui passei, qualquer coisa se formou nas escadas e nos quartos. Ao contrário da Jinny, não quero ser admirada. Não quero que as pessoas levantem os
olhos e me fitem, admiradas, sempre que entro numa sala. Quero dar, dar-me, e preciso de solidão, da solidão que me permitirá revelar tudo o que possuo.
Depois, voltarei para casa caminhando através dos carreiros estreitos que se ocultam por baixo dos arcos formados pelas folhas das avelaneiras. Passarei por
uma velha que empurra um carrinho cheio de pauzinhos; e pelo pastor. Contudo, não trocaremos qualquer palavra. Voltarei a atravessar o jardim frente à cozinha, e
verei as folhas das couves carregadas de gotas de orvalho, e a casa no meio do jardim, cega devido às janelas cheias de cortinas. Subirei as escadas que levam ao
quarto e passarei revista a tudo aquilo que possuo e que está fechado com todo o cuidado no guarda-vestidos: as minhas conchas; os meus ovos; as minhas ervas estranhas.
Darei de comer às pombas e ao esquilo. Irei até ao canil escovar o pêlo do cão. Assim, aos poucos, acabarei por expulsar esta coisa dura que cresceu aqui comigo,
do meu lado. Contudo, as campainhas não param de tocar; os pés arrastam-se pelo chão num movimento perpétuo.
– Detesto a escuridão, o sono e a noite – disse Jinny –, e não me canso de esperar pelo dia. Gostava que a semana fosse apenas um dia, sem quaisquer divisões.
Quando acordo cedo, e são os pássaros que me acordam, fico deitada a ver os puxadores de bronze do armário tornarem-se mais claros; depois a bacia; depois o toalheiro.
À medida que as coisas no quarto se vão tornando mais claras, o coração bate-me mais depressa. Sinto o corpo enrijecer e tornar-se cor-de-rosa, amarelo, castanho.
Passo as mãos pelo corpo e pelas pernas. Sinto os seus declives, a sua espessura. Adoro ouvir o gongo ecoar pela casa, dando assim início ao ruído, aqui um baque,
ali uma rápida sucessão de passos. As portas batem; a água corre. “Começou outro dia, começou outro dia!”, exclamo, pondo os pés no chão. Pode muito bem não vir
a ser um dia bom, antes se revelando imperfeito. É com frequência que me repreendem. É com frequência que caio em desgraça por ser preguiçosa e me estar sempre a
rir; mas mesmo quando Miss Mathews resmunga qualquer coisa sobre o quanto sou cabeça-de-vento, consigo captar algo que se move – talvez uma mancha de sol poisada
num quadro, ou o burro puxando a máquina de ceifar através da encosta; ou uma vela passando por entre as folhas do loureiro. O certo é que não me deixo abater. Miss
Mathews não me pode impedir de dar graças.
Está a chegar a hora de deixar a escola e usar saias compridas. Durante a noite usarei muitos colares e um vestido branco, sem mangas. Irei a muitas festas
em salões iluminados; e um homem acabará por me escolher, dizendo-me o que nunca antes disse a mais ninguém. Gostará mais de mim que da Susan ou da Rhoda. Verá em
mim uma qualquer qualidade, uma característica particular. Todavia, não me deixarei prender por uma única pessoa. Não quero ser presa, pregada. Tremo e estremeço,
tal como uma folha abandonada ao vento, quando me sento na cama a abanar os pés, como um dia novo à frente, pronto para ser descoberto. Tenho à minha frente cinquenta,
sessenta anos para gastar. Ainda não preciso de começar a usar as reservas. Estou apenas no começo.
– Passam-se horas e horas – disse Rhoda –, antes de poder apagar a luz e deitar-me na cama, suspensa por sobre o mundo, antes de poder deixar cair o dia, antes
de poder deixar crescer a minha árvore, estremecendo por sobre mim em grandes pavilhões verdes. Aqui não a posso deixar crescer. Há sempre alguém pronto a deitá-la
abaixo. Não param de me fazer perguntas e de me interromper.
Agora vou até à casa de banho, tiro os sapatos e lavo-me; mas, enquanto me lavo, enquanto baixo a cabeça para a bacia, deixo que o véu da imperatriz russa
flutue à altura dos meus ombros. Na testa brilham-me os diamantes da coroa imperial. Ouço o rugir da tuba hostil quando me aproximo da varanda. Agora, esfrego as
mãos com tal força, que a Miss (esqueci-me do nome) não consegue suspeitar que estou a ameaçar com o punho a multidão enraivecida. “Sou a vossa imperatriz, gentalha.”
A minha atitude é de desafio. Não tenho medo, pertenço à raça dos conquistadores.
Contudo, trata-se de um sonho pouco consistente. Trata-se de uma árvore de papel. Miss Lambert fá-la desaparecer nos ares. Até mesmo a visão da sua figura
esgueirando-se pelo corredor fá-la desfazer-se em átomos. Este sonho da imperatriz não é sólido; não me satisfaz. Agora, que já foi destruído, deixa-me a tremer
de frio. Irei até à biblioteca, escolherei um livro e ali ficarei, ora a ler ora a olhar; ora a olhar ora a ler. Está aqui um poema a respeito de uma vedação. Seguirei
junto a ela e colherei flores, rosas silvestres e trepadeiras sinuosas. Apertá-las-ei com força nas mãos, e acabarei por as colocar na superfície brilhante da secretária.
Sentar-me-ei na margem trêmula do rio e ficarei a ver os lírios-de-água, largos e brilhantes, que iluminam o carvalho que se debruça por sobre a vedação com os raios
de luar reflectidos na sua própria luz líquida. Apanharei flores; unirei todas as flores numa grinalda, e, depois de esta estar pronta, irei dá-la de presente...
Oh! A quem? O fluxo do meu ser não corre como deveria; um curso de água profundo esbarra em qualquer obstáculo; sacode-se; luta; um qualquer nó existente no centro
oferece resistência. Oh, esta dor, esta angústia! Desfaleço, caio. O meu corpo perde a rigidez; é como se me tivesse tirado o lacre, estou em brasa. Agora, a corrente
transformou-se num fluxo fertilizador, forçando tudo o que encontra pela frente. A quem oferecerei tudo o que corre através de mim, pelo meu corpo quente e poroso?
Colherei um ramo de flores e vou oferecê-las... Oh! A quem?
Marinheiros e casais apaixonados percorrem a procissão; os autocarros abandonam a costa e dirigem-se para a cidade. Darei; contribuirei para enriquecer qualquer
coisa; devolverei toda esta beleza ao mundo. Recolherei as minhas flores até elas formarem um único núcleo, e, avançando de mão estendida, dá-las-ei.... Oh! A quem?
– Acabamos de receber – disse Louis –, pois trata-se do último dia do último período, o nosso último dia, para mim, para o Bernard e para o Neville, aquilo
que os mestres tinham para nos dar. Concluiu-se a introdução; o mundo está apresentado. Eles ficam; nós partimos. O Grande Professor, o homem a quem mais respeito,
balançou-se um pouco por entre as mesas e os livros, falou-nos a respeito de Horácio, Tennyson, das obras completas de Keats, e também de Mathew Arnold. Respeito
a mão que tudo isto nos deu a conhecer. Fala com a mais completa das convicções. Para si, e muito embora não se passe o mesmo connosco, as palavras que diz são verdadeiras.
Com aquela voz rouca característica dos estados emocionais profundos, disse-nos que estávamos prestes a partir. Pediu-nos para sairmos como homens. (Nos seus lábios,
tanto as citações da Bíblia como as do The Times têm a mesma magnificência.) Alguns de nós farão isto; outros aquilo. Alguns nunca mais se verão. O Neville, o Bernard
e eu nunca mais nos voltaremos a encontrar aqui. A vida far-nos-á seguir caminhos diversos. Contudo, constituímos alguns laços. Terminaram os anos infantis, irresponsáveis.
Contudo, forjamos algumas ligações. Acima de tudo, herdamos tradições.
Marcos de pedra estão aqui há seiscentos anos. Nestas paredes encontram-se inscritos nomes de militares, estadistas, até mesmo de alguns poetas infelizes (o
meu estará entre os deles). Deus abençoe as tradições, todos os limites destinados a nos salvaguardar! Estou deveras grato a todos vós, homens de capas negras, e
também a vós, já mortos, por nos terem guiado; contudo, ao fim ao cabo, o problema permanece. As diferenças ainda não foram resolvidas. As flores continuam a espreitar
pelas janelas. Vejo aves selvagens, e no meu coração agitam-se impulsos ainda mais selvagens que os pássaros. Os meus olhos têm uma expressão desvairada; aperto
os lábios com força. A ave voa; a flor dança; mas nunca deixo de escutar o bater monótono das ondas; e a fera acorrentada continua a bater as patas lá na praia.
Não pára de bater. Bate e vai batendo.
– Esta é a cerimônia final – disse Bernard. – Esta é a última de todas as nossas cerimônias. Estamos dominados por estranhos sentimentos. O guarda que segura
a bandeira está prestes a soprar o apito; o comboio não para de soltar colunas de vapor e estará pronto a partir daqui a alguns instantes. Uma pessoa sente-se tentada
a dizer qualquer coisa, a sentir qualquer coisa de absolutamente apropriado à ocasião. Sente-se a cabeça fervilhar: os lábios estão apertados. Uma abelha entra em
cena a zumbir, esvoaçando em torno do bouquet de flores de Lady Hampton, a esposa do director, que não pára de o cheirar, como que para demonstrar ter apreciado
o cumprimento. E se a abelha lhe desse uma ferroada no nariz? Estamos todos profundamente comovidos; e, no entanto, irreverentes; penitentes; desejosos de que tudo
acabe e relutantes em partir. A abelha distrai-nos; o seu voo ao acaso parece fazer diminuir a nossa concentração. Zumbindo de forma vaga, movendo-se em círculos
largos, acabou por poisar no cravo. Muitos de nós não se voltarão a ver. Não voltaremos a gozar certos prazeres quando formos livres de nos deitar e levantar quando
muito bem nos apetecer, e quando eu já não precisar de ler textos imortais às escondidas, à luz de cotos de velas. A abelha zumbe agora em torno da cabeça do Grande
Professor. Larpent, Jolin, Archie. Percival, Baker e Smith – gostei imenso de os conhecer. Apenas conheci um rapaz louco. Apenas odiei um rapaz mesquinho. Divirto-me
imenso a relembrar aqueles pequenos-almoços à mesa do director, compostos por torradas e marmelada. Ele é o único que não repara na abelha.
Se ela lhe poisasse no nariz, afastá-la-ia com um gesto magnífico. Acabou de dizer uma piada. A sua voz quase deixou de se ouvir. Estamos livres das nossas
obrigações, o Louis, o Neville e eu, para sempre. Pegamos nos livros de capas polidas, todos escritos com a caligrafia própria dos eruditos, miúda e desenhada. Levantamo-nos;
dispersamos; a pressão deixa de se fazer sentir. A abelha transformou-se num insecto insignificante e desrespeitoso, voando através da janela ao encontro da obscuridade.
Partimos amanhã.
– Estamos quase a partir – disse Neville. – As malas estão aqui; os carros estão aqui. Lá está o Percival com o seu chapéu de coco. Acabará por me esquecer.
Não responderá às minhas cartas, deixando-as esquecidas por entre armas e cães. Enviar-lhe-ei poemas, e talvez me responda com bilhetes postais. Mas é exactamente
por isso que o amo. Propor-lhe-ei um encontro, talvez por baixo de um relógio, junto a uma Cruz; ficarei à sua espera e ele não comparecerá. Sairá da minha vida
sem sequer disso se aperceber. E, por incrível que pareça, eu sairei ao encontro de outras vidas; isto é, apenas uma capa, um prelúdio. Começo a sentir, muito embora
mal consiga aguentar o discurso pomposo do director e as suas emoções fingidas, que as coisas de que nos tínhamos apercebido se estão a aproximar. Serei livre para
entrar no jardim onde Fenwick levanta o malho. Aqueles que me desprezaram reconhecerão a minha sabedoria. Contudo, e devido a qualquer lei obscura do meu ser, nem
o poder nem a sabedoria serão o suficiente para mim; andarei sempre à procura da privacidade e a murmurar palavras solitárias. E é assim que vou, na dúvida, mas
exaltado; apreensivo e com uma dor intolerável; mas pronto a descobrir o que quero depois de muito sofrimento. Ali, vejo pela última vez a estátua do nosso piedoso
fundador, as pombas poisadas na sua cabeça. Elas nunca pararão de esvoaçar em torno da sua cabeça, embranquecendo-a, enquanto na capela o órgão não pára de tocar.
Assim, ocuparei o lugar que me foi reservado no compartimento, e, quando isso acontecer, ocultarei os olhos com um livro para que não vejam que choro; ocultarei
os olhos para observar; para olhar de esguelha para o rosto. Estamos no primeiro dia das férias grandes.
– Estamos no primeiro dia das férias grandes – disse Susan. – Mas o dia ainda está enrolado. Não o examinarei até ao momento em que poisar na plataforma, ao
fim da tarde. Não me darei sequer ao trabalho de o cheirar até sentir nas narinas o vento fraco dos campos. Contudo, estes já não são os terrenos da escola; estas
já não são as vedações da escola; os homens que estão nos campos praticam acções reais; enchem carroças com feno verdadeiro; e aquelas são vacas reais, em nada semelhantes
às vacas da escola. No entanto, o cheiro a ácido carbólico dos corredores e o odor a giz característico das salas não me abandonam o nariz. Trago ainda nos olhos
o brilho uniforme da ardósia. Para enterrar profundamente a escola que tanto odeio tenho de esperar pelos campos e pelas vedações, pelos bosques e pelos pastos,
pelas vedações pontiagudas das estações ferroviárias, juncadas de giestas e carruagens descansando nas linhas secundárias, pelos túneis e pelos jardins suburbanos
onde as mulheres penduram a roupa nos estendais, e de novo pelos campos e pelos portões onde as crianças se baloiçam.
Nunca passarei uma noite que seja da minha vida em Londres, nem mandarei os meus filhos para a escola. Aqui, nesta enorme estação, todas as coisas têm um eco
vazio. A luz é amarelada, semelhante à que nos chega através de um toldo. A Jinny vive aqui. A Jinny passeia o cão nestas ruas. As pessoas daqui andam pelas ruas
em silêncio. Não olham para mais nada a não ser para as montras das lojas. As suas cabeças não param de fazer o mesmo movimento simultâneo, para cima e para baixo.
As ruas estão atadas umas às outras pelos fios do telégrafo. As casas são todas de vidro, enfeitadas com festões e toda a espécie de brilhos; agora, todas são portas
principais e cortinas de renda, pilares e degraus brancos. Mas o certo, lá vou eu, de novo para longe de Londres; estou de novo nos campos; vejo as casas, as mulheres,
que penduram a roupa às árvores, e os pastos. Londres apresenta-se agora velada, acabando por se dobrar sobre si mesma e desaparecer. O ácido carbólico e a resina
começam agora a perder o seu sabor. Cheira-me a milho e a nabos. Desfaço um embrulho de papel amarrado com um fio de algodão branco. As cascas de ovo rebolam para
a depressão que separa os meus dois joelhos. As estações vão-se seguindo umas às outras. As mulheres beijam-se e ajudam-se mutuamente a carregar os cestos. Agora,
já posso abrir a janela e deitar a cabeça de fora. O ar entra-me às golfadas pelo nariz e pela garganta – este ar fresco, este ar com sabor a sal e cheiro a nabos.
E lá está o meu pai, de costas voltadas, a falar com um agricultor. Estremeço. Choro. Lá está o meu pai com as suas palavras. Lá está o meu pai.
– Sento-me muito quietinha no meu canto e lá vou para o Norte – disse Jinny. – O comboio faz muito barulho, mas é tão suave que esbate as vedações, aumenta
o tamanho das encostas. Passamos por inúmeros sinais luminosos; fazemos a terra abanar ligeiramente de um lado para o outro. A distância concentra-se para todo o
sempre num único ponto; e estamos condenados para todo o sempre a fendê-la, a obrigá-la a se distanciar. Os postes do telégrafo não param de nos surgir pela frente;
abate-se um, eleva-se outro. Agora, rugimos e precipitamo-nos num túnel. Um cavalheiro levanta a janela. Vejo bolhas no vidro brilhante onde o túnel se reflecte.
Vejo-o baixar o jornal. Sorri para o meu reflexo no túnel. Por sua livre e espontânea vontade, o meu corpo endireita-se ao sentir o seu olhar. O meu corpo vive uma
vida que é só dele. Agora, o vidro negro da janela voltou a ser verde. Estamos fora do túnel. Ele lê o jornal. Mas já tocamos a aprovação dos nossos corpos. Lá fora
existe uma sociedade de corpos, e o meu já lhe pertence; o meu já chegou à sala onde estão as cadeiras douradas. Olha, tudo dança, as janelas das villas e as cortinas
que as enfeitam; e os homens estão sentados nas vedações dos campos de milho, com os seus lenços azuis atados ao pescoço; estão tão conscientes como eu de todo este
êxtase e calor. Um deles acena à nossa passagem. Nos jardins destas villas existem caramanchões e pavilhões, e jovens em mangas de camisa a podar as roseiras. Um
homem a cavalo vai galopando pelo prado. O animal dá um salto quando passamos. E o cavaleiro vira-se para nos olhar. Voltamos a nos encontrar no meio da escuridão.
Recosto-me; entrego-me ao êxtase; imagino que no fundo do túnel entrarei num salão repleto de cadeiras, numa das quais me sentarei, sob os olhares de admiração de
todos, com o vestido muito bem arranjado à minha volta. Mas aterro, quando levanto a cabeça encontro os olhos de uma mulher azeda, que suspeita que me deixo levar
pelo êxtase. Com alguma impertinência, fecho o corpo bem à sua frente, como se de um guarda-sol se tratasse. O meu corpo abre-se e fecha-se quando quero. A vida
está a começar. Entro agora nos segredos que esta para mim reservou.
– Estamos no primeiro dia das férias grandes – disse Rhoda. – E agora, à medida que o comboio passa por estas rochas vermelhas, por este mar azul, o trimestre,
agora que chegou ao fim, ganha uma determinada forma atrás de mim. Vejo-lhe a cor. Junho foi branco. Vejo os campos repletos de margaridas brancas, vestidos brancos,
e campos de tênis, cujos limites estão traçados a branco. Seguiu-se então uma tempestade muito forte. Certa noite, vi uma estrela cavalgar as nuvens e disse-lhe:
“Consome-me!”. Estava-se em pleno Verão, depois da festa ao ar livre e da humilhação por que tive de passar. O vento e a tempestade deram cor ao mês de Julho. É
sensivelmente a meio que, horrível, cadavérica, se deve posicionar a poça cinzenta no pátio, quando, de envelope na mão, me fizeram transportar uma mensagem. Aproximei-me
da poça. Não a consegui atravessar. A noção de identidade abandonou-me. “Nada somos”, disse, depois do que caí. Fui arrastada como uma pena, transportaram-me através
de túneis. Então, com muita cautela, dei um passo em frente. Encostei a mão a uma parede de tijolo. Foi a muito custo que voltei, recolhendo-me de novo no meu corpo,
por cima do espaço cinzento e cadavérico da poça. Esta é então a vida com a qual estou comprometida.
E é assim que deixo para trás o trimestre do Verão. Através de choques intermitentes, rápidos como os saltos de um tigre, a vida emerge do mar, tecendo a sua
crista escura. É com isto que estamos comprometidos; é a isto que estamos ligados, como corpos a cavalos selvagens. Contudo, inventamos engenhos destinados a encher
as rochas e a disfarçar as fendas. Cá está o revisor. Aqui, estão dois homens; três mulheres; um gato dentro de um cesto; eu mesma, o cotovelo apoiado à calha da
janela – isto é o aqui e agora. E lá vamos nós avançando através destas cearas douradas. As mondadeiras surpreendem-se por ficarem para trás. O comboio faz agora
muito barulho e respira penosamente, pois vamos a subir, a subir cada vez mais. Acabamos por chegar ao cimo da charneca. Aqui, só vivem umas quantas ovelhas bravas,
uns quantos pôneis felpudos; apesar disso, temos todos os confortos: mesas onde poisar os jornais; espaços destinados a segurar os copos. Levamos todas estas coisas
connosco para o cimo da charneca. Estamos agora no ponto mais alto. O silêncio fecha-se atrás de nós. Se olhar por cima daquela cabeça careca, poderei ver o silêncio
fechar-se e as sombras das nuvens perseguindo-se umas às outras ao longo da charneca vazia; o silêncio fecha-se atrás da nossa breve passagem. Chamo a isto o momento
presente; este é o primeiro dia das férias grandes. Isto é apenas uma parte do monstro a que estamos ligados.
– Já saímos – disse Louis. – Estou agora em suspensão, sem estar seguro a coisa alguma. Estamos sem estar. Estamos a atravessar a Inglaterra de comboio. A
Inglaterra vai passando através da janela, transformando-se de colina em bosque, em rios e salgueiros, e tudo apenas para voltar a ser cidade. E eu não tenho qualquer
ponto concreto para onde possa ir. O Bernard e o Neville, o Percival, o Archie, o Larpent e o Baker, todos vão para Oxford ou Cambridge, para Edimburgo, Roma, Paris,
Berlim, ou para qualquer universidade americana. Eu limito-me a avançar de forma vaga, destinado a fazer dinheiro de forma vaga. É por isso que uma sombra dolorosa,
um sotaque familiar, poisa nestas sedas douradas, nestes campos de papoulas vermelhas, nestas espigas de trigo que nunca ultrapassam o limite, mantendo-se sempre
dentro da vedação. Este é o primeiro dia de uma nova vida, mais um dos raios da roda que se eleva. Contudo, o meu corpo é tão errante como a sombra de uma ave. Deveria
ser tão efêmero como uma sombra no pasto, ora desmaiando ora escurecendo, acabando por morrer no ponto onde encontra o bosque, e assim seria se não fizesse um enorme
esforço mental para que as coisas não se passassem desta forma; obrigo-me a registrar o momento presente, quanto mais não seja no verso de uma poesia que nunca será
escrita; a anotar esta pequena marca da longa história que começou no Egipto, no tempo dos faraós, quando mulheres levavam ânforas vermelhas para o Nilo. Tenho a
sensação de que já vivi milhares de anos. Mas, se fechar os olhos, se não conseguir descobrir o ponto de encontro entre o passado e o presente, que estou sentado
numa carruagem de terceira classe repleta de rapazes que vão passar férias a casa, a história da humanidade ficará despojada da imagem de um determinado momento.
O seu olho, que deveria ver através de mim, fecha-se (isto se a cobardia ou o descuido me fizerem adormecer, enterrando-me no passado, na escuridão; ou o condescender,
tal como o Bernard faz, contando histórias; ou gabando-me, tal como se gabam o Percival, o Archie, o John, o Walter, o Lathom, o Roper e o Smith), os nomes são sempre
os mesmos, são os nomes dos fanfarrões. Estão-se todos a gabar, estão todos a falar, todos menos o Neville, que de vez em quando deixa o olhar escorregar por um
dos cantos do livro francês que está a ler. E assim continuará a se esgueirar, penetrando em aposentos iluminados pela luz da lareira e onde se vêem muitas poltronas,
tendo como companhia um amigo e muitos livros. Enquanto isso, estarei sentado num escritório, por detrás de um balcão. Acabarei por me tornar amargo e troçar deles.
Invejarei o modo como seguir as suas tradições, escudando-se na sombra dos velhos teixos, enquanto eu terei de me misturar com funcionários públicos e gente de baixa
condição, palmilhando as pedras da calçada.
No entanto, desmembrado e sem nada onde me possa segurar (está ali um rio; um homem pesca; vê-se ali um pináculo, ali a rua principal da aldeia com as suas
janelas em arco) tudo me parece um sonho, sem contornos definidos. Estes pensamentos duros, esta inveja, esta amargura, nada disto me atinge. Sou o fantasma do Louis,
um viandante efêmero, em cuja mente os sonhos são poderosos, e os jardins ecoam quando, de manhã bem cedo, as pétalas flutuam em profundezas insondáveis e as aves
cantam. Mergulho nas águas límpidas da infância. O véu fino que a cobre estremece. Mas, lá na praia, o animal acorrentado não cessa de bater as patas.
– O Louis e o Neville – disse Bernard – estão ambos em silêncio. Estão ambos absortos. Ambos sentem a presença dos outros como se de um muro se tratasse, um
muro que os isola. Todavia, se me retiro em companhia dos outros, as palavras de imediato se elevam dos meus lábios como se fossem anéis de fumo. É como se chegassem
um fósforo a um monte de lenha; algo se incendeia. Entra agora um viajante, um homem idoso, de aparência próspera. De imediato sinto desejo dele me aproximar; há
qualquer coisa na sua presença fria, não assimilada, que me desgosta profundamente. Não acredito em separações. Não somos seres individuais. Para mais, tenho vontade
de alargar a minha colecção de observações valiosas a respeito da verdadeira natureza humana. Por certo que a minha obra constará de muitos volumes e abrangerá todos
os tipos conhecidos de homens e mulheres. Encho a mente com todos os elementos de uma sala ou de uma carruagem, do mesmo modo que os outros enchem uma caneta de
tinta-permanente. Tenho uma sede impossível de mitigar. Através de sinais imperceptíveis, os quais só mais tarde poderei interpretar, sinto que a sua atitude provocatória
está prestes a esmorecer. A solidão que demonstra parece estar prestes a estalar. Acabou de dizer qualquer coisa a respeito de uma casa de campo. Um círculo de fumo
eleva-se dos meus lábios (a respeito de colheitas) e gira em volta dele, obrigando-o a estabelecer contacto. A voz humana tem uma qualidade desarmante (não somos
seres individuais, somos um todo). À medida que trocamos algumas frases a respeito de casas de campo é como se o polisse e tornasse real. Como marido é tolerante,
se bem que infiel; trata-se de um pequeno mestre-de-obra com alguns homens a trabalhar para si. É importante na sociedade a que pertence; já atingiu a posição de
conselheiro, e, com o tempo, talvez venha a ser presidente de câmara. Pendurado na corrente do relógio, está um qualquer enfeite de coral, uma espécie de dente arrancado
pela raiz. Walter J. Trumble é o tipo de nome que lhe ficaria bem. Esteve na América com a mulher, a tratar de negócios, e um quarto de casal numa pensão importante
custou-lhe o equivalente a um mês de salário. Um dos dentes da frente é de ouro.
Bom, o certo é que não tenho jeito para grandes reflexões. Preciso de sentir o concreto em tudo. Só assim me consigo apropriar do mundo. Contudo, dá-me a sensação
de que uma frase tem existência própria. Mesmo assim, penso que é na completa solidão que se produz o melhor. As minhas palavras são cálidas e solúveis, carecem
de um certo arejamento que não lhes posso dar. Mesmo assim, o meu método tem vantagens. Por exemplo, a vulgaridade de um indivíduo como Trumble faz com que o Neville
se afaste. O Louis, caminhando com o passo alto das garças desdenhosas, vai apanhando palavras como se para isso se servisse de pinças. É certo que os seus olhos
– ariscos, sorridentes, mas também desesperados – expressam algo que não conseguimos alcançar. Há qualquer coisa de exacto e preciso em relação ao Neville e ao Louis,
algo que tanto admiro e que nunca possuirei. Começo agora a aperceber-me da necessidade de agir. Aproximamo-nos de um entroncamento; é aqui que devo mudar. Tenho
de apanhar um comboio para Edimburgo. Sinto que não consigo encarar este facto – escapa-se-me por entre os dedos como um botão, como uma moedinha. Aqui vem o revisor
pedir os bilhetes. Eu tinha um – claro que tinha um. Mas isso não interessa. Ou o encontro ou não o encontro. Procuro na carteira. Vasculho os bolsos. São coisas
deste tipo que estão constantemente a interromper o processo no qual me vejo sempre envolvido, e que se prende com a procura da frase perfeita que se adeque a este
momento.
– O Bernard foi-se embora sem bilhete – disse Neville. – Escapou-se como uma frase, um aceno. Falava com a mesma facilidade com que nos falava tanto a um canalizador
como a um criador de cavalos. O canalizador aceitava-o com devoção. Se tivesse um filho como ele, pensava, arranjava maneira de o mandar para Oxford. Mas que sentiria
o Bernard pelo canalizador? Será que não desejaria apenas continuar a sequência da história que nunca pára de contar a si mesmo? Começou-a em criança quando desfazia
o pão em migalhas. Esta migalha era um homem, aquela uma mulher.
Somos todos migalhas. Somos todos frases na sua história, factos que anota na letra A ou B. Revela uma incrível compreensão quando conta a nossa história,
excepto no que se refere ao que sentimos. O certo é que não precisa de nós. Tudo está à nossa mercê. Ali está ele, na plataforma, a acenar. O comboio partiu sem
ele. Perdeu a ligação. Perdeu o bilhete.
Mas isso não importa. Acabará por falar com o empregado do bar a respeito do destino humano. Estamos de fora; ele já nos esqueceu; saímos do seu ângulo de
visão; continuamos repletos de sensações, meio-doces, meio-amargas, pois, e, de certa forma, ele é digno de piedade, enfrentando o mundo com as suas frases incompletas
e sem o bilhete. Mesmo assim, também merece ser amado.
Volto a fingir que estou a ler. Levanto o livro até este quase me tapar os olhos. Todavia, sou incapaz de ler frente a canalizadores e criadores de cavalos.
Não tenho o poder de inspirar simpatia. Não admiro aquele homem; ele não me admira. Deixem-me ao menos ser honesto. Deixem-me denunciar este mundo fútil, oco, em
paz consigo mesmo; estes assentos de pele de cavalo; estas fotografias a cores de molhes e paredões. É claro que poderia denunciar em voz alta a mediocridade deste
mundo, que produz negociantes de cavalos que usam berloques de coral nas correntes dos relógios. Há em mim a capacidade de os consumir por completo. As minhas gargalhadas
fá-los-ão revolver-se nos assentos; fá-los-ão uivar à minha frente. Não; eles são imortais. São eles quem triunfam. Farão com que nunca me seja possível ler Catulo
numa carruagem de terceira classe. Farão com que em Outubro me refugie numa universidade, onde acabarei por me tornar professor; e ir até à Grécia dar palestras
no Parténon. Seria melhor criar cavalos e viver numa daquelas casas vermelhas do que passar a vida a revolver-me nas caveiras de Sófocles e Eurípides, semelhante
a uma larva, tendo por companheira uma esposa de vasta erudição, uma dessas mulheres das universidades. Apesar de tudo, será esse o meu destino. Sofrerei. Aos dezoito
anos, sou capaz de mostrar uma tão grande dose de desprezo, que os criadores de cavalos me odeiam. É esse o meu triunfo; sou incapaz de compromissos. Não sou tímido;
não tenho qualquer sotaque estranho. Ao contrário do Louis, não preciso de me preocupar com o que irão as pessoas pensar por o meu pai ser banqueiro em Brisbane”.
Aproximamo-nos do mundo civilizado. Já vejo os gasômetros. Lá estão os jardins municipais por onde passam linhas asfaltadas. Lá estão os amantes, deitados
na relva sem qualquer pudor, as bocas apertadas umas contra as outras. O Percival deve estar quase na Escócia; por certo que o comboio onde viajava atravessa charnecas
avermelhadas; por certo que deve estar a ver a linha composta pelas montanhas que marcam o início do país, bem assim como o muro romano. Deve estar a ler um livro
policial e a entender tudo o que lá está.
O comboio abranda e alonga-se à medida que nos aproximamos de Londres, do centro, e o meu coração quase que salta, de medo, de satisfação. Estou prestes a
encontrar... o quê? Que aventuras extraordinárias me esperarão por entre estas carrinhas dos correios, estes bagageiros, estes enxames de gente à espera de táxi?
Sinto-me insignificante, perdido, mas também satisfeito. Paramos com um ligeiro solavanco. Vou deixar que os outros saiam antes de mim. Deixar-me-ei ficar sentado
durante mais um instante antes de sair ao encontro daquele caos, daquele tumulto. Tentarei não antecipar o que está para vir. Sinto um enorme rugido nos ouvidos,
qualquer coisa que, por baixo deste telhado de vidro, lembra o barulho do mar. Despejam-nos na plataforma com as malas na mão. O turbilhão faz com que nos separemos.
O meu sentido de unidade, o desprezo que me caracteriza, quase desaparece. Sou arrastado pela multidão. Afasto-me da plataforma agarrado a tudo o que possuo – uma
mala.
O Sol já nasceu. Barras de amarelo e verde incidem na praia, dourando as traves do barco carcomido e fazendo com que as algas emitam reflexos azul metalizado.
A luz quase que atravessa as finas ondas que se estendem pela praia. A rapariga que abanou a cabeça, fazendo dançar todas as jóias, os topázios, as águas-marinhas,
as contas cor de água com lampejos de fogo, desnudou agora a testa e, de olhos bem abertos, traça um caminho em linha recta por sobre as ondas. Os seus brilhos tremeluzentes
escurecem; os seus abismos verdes aprofundam-se e escurecem, podendo ser atravessados por cardumes errantes de peixes. À medida que se quebram e recolhem, deixam
atrás de si, na praia, uma orla composta por raminhos e cascas de árvore, palhas e pedaços de madeira, tal como se uma chalupa se tivesse quebrado contra as rochas,
os marinheiros tivessem nadado para a terra, e, do alto do penhasco, vissem a frágil embarcação em que seguiam ser arrastada para a praia.
No jardim, as aves que até então haviam cantado de forma esporádica, anunciando a alvorada, ora nesta árvore ora naquele arbusto, cantavam agora em coro, alto
e bom som; ora juntas (como se estivessem conscientes da companhia) ora a sós (como se para homenagear o pálido céu azul). Como se tivessem combinado, levantavam
voo em conjunto quando viam um gato preto avançar por entre os arbustos; quando viam a cozinheira atirar mais uma pá de cinza para o monte já grande do dia anterior.
O seu canto revelava medo, dor e apreensão, e também a alegria de terem conseguido escapar no instante preciso. Para mais, cantavam também de felicidade no ar fresco
da manhã, voando alto por cima do ulmeiro, cantando em conjunto ao se perseguirem mutuamente, escapando-se, tentando agarrar-se enquanto voltejavam nos ares. E então,
cansadas de voar e da perseguição, desceram devagar, com suavidade, acabando por poisar e se sentar em silêncio na árvore, no muro, com os olhos brilhantes sempre
alerta, e as cabeças ora viradas nesta ou naquela direcção; vivos, despertos; profundamente conscientes de uma casa, de um determinado objecto.
Sem parar de olhar de um lado para o outro, começaram a examinar mais em profundidade, virando as cabeças para o nível inferior ao das flores, para as avenidas
escuras que compõem o mundo obscuro onde as folhas apodrecem e as flores acabam por cair. Então, um dos pássaros, fazendo um voo rasante, ataca o corpo mole e indefeso
de um verme monstruoso, bicando-o repetidas vezes até acabar por decidir deixá-lo apodrecer. Lá em baixo, entre as raízes, onde as flores apodreciam, e elevava-se
nos ares toda a espécie de cheiros indicadores de morte; formavam-se gotas nos flancos inchados e entumecidos das coisas. A pele da fruta podre rebentava, e a matéria
tornava-se demasiado espessa para correr. As lesmas deixavam atrás de si uma série de excreções amarelas, e, de vez em quando, um corpo amorfo com uma cabeça em
ambas as extremidades abanava-se devagar de um lado para o outro. As aves de olhos dourados, poisadas entre as folhas, observavam de forma zombeteira toda aquela
purulência, aquela viscosidade. De vez em quando, espetavam as pontas dos bicos na mistura pegajosa.
Também agora o sol atingiu a janela, tocando a cortina orlada a vermelho, começando a criar círculos e linhas. Agora, à luz da claridade que não parava de
aumentar, a sua brancura poisava na bandeja; a lâmina condensava o seu brilho. As cadeiras e os armários apareciam de forma indistinta mais atrás, o que fazia com
que, muito embora fossem objectos diferentes, parecessem ser incapazes de se separar. O espelho cobria a parede de branco. A flor que repousava no parapeito da janela
tinha por companhia uma flor fantasma. Todavia, aquela espécie de espectro fazia parte da flor, pois que quando se soltava um botão, um outro abria na forma mais
pálida, reflectida no espelho.
O vento começou a soprar. As ondas batiam com força na praia, como se fossem guerreiros de turbante, como se fossem homens de turbante com azagaias envenenadas
que, erguendo os braços, avançassem contra rebanhos compostos por ovelhas brancas.
– Aqui, na faculdade, onde a agitação da vida e o modo como esta nos pressiona são tremendos, onde a excitação de viver se torna cada dia mais urgente, aqui
a complexidade das coisas torna-se óbvia – disse Bernard. – A toda a hora descubro coisas novas. “Que sou eu?”, pergunto. Isto? Não, sou aquilo. Principalmente agora,
que abandonei uma sala cheia de gente a conversar, e os meus passos solitários ressoam nas lajes, e vejo a lua elevar-se, sublime, indiferente, por sobre a antiga
capela, é então que se torna claro que não sou um ser uno e simples, mas antes complexo e múltiplo. Em público, o Bernard não se cala; em privado, é misterioso.
É por isso que eles não compreendem, pois por certo que estão a falar a meu respeito, dizendo que lhes escapo, que sou evasivo. Não compreendem que tenho de passar
por muitas transformações; que tenho de comandar as entradas e as saídas dos diferentes homens que desempenham o papel de Bernard. Tenho uma capacidade anormal para
me aperceber das circunstâncias. Sou incapaz de ler um livro no comboio sem perguntar: “Será ele um construtor? Será ela infeliz?”. Por exemplo, hoje apercebi-me
claramente da amargura com que o pobre Simes (ele e a sua borbulha) sentia serem diminutas as hipóteses que tinha de impressionar o Billy Jackson. O facto doeu-me,
e foi com ardor que o convidei para jantar. Ele talvez vá atribuir o que se passou a uma admiração que não é minha. Claro que estou a dizer a verdade. Mas, para
além da sensibilidade própria das mulheres (e aqui estou a citar o meu biógrafo) Bernard possuía a sobriedade lógica de um homem. As pessoas que apenas retêm uma
impressão das coisas, a qual costuma ser quase sempre boa (pois parece existir uma qualquer virtude na simplicidade), são as que mantêm o equilíbrio no meio da corrente.
(De imediato vejo um cardume de peixes com os narizes apontados na mesma direcção.) Canon, Lycett, Peters, Hawkins, Larpent, Neville, todos são peixes a nadar no
meio da corrente. Mas tu compreendes, tu, o meu eu, que respondes sempre que te chamo (seria terrível esperar e não obter resposta; só isso explicaria a expressão
dos homens idosos que frequentam os clubes, há muito que deixaram de chamar por um eu que não responde), tu compreendes que aquilo que disse esta noite apenas representa
uma parte superficial do meu ser. No fundo, é quando estou mais distante que me sinto mais integrado. Sou efusivamente simpático; também me sento, tal como um sapo
num charco, recebendo com toda a calma seja o que for que o destino me reserva. Poucos de vós, que agora discutem a meu respeito, têm a dupla capacidade de sentir,
de raciocinar. Repare, o Lycett continua a correr atrás das lebres; o Hawkins passou uma tarde atarefadissima na biblioteca. O Peters tem uma namoradinha na biblioteca
móvel. Vocês estão todos comprometidos, envolvidos, absorvidos, e completamente activados dos pés à cabeça, todos menos o Neville, cuja mente é demasiado complexa
para se interessar por uma única actividade. Eu também sou demasiado complexo. No meu caso, há algo que permanece a flutuar, sem se prender a nada.
Agora, como que para provar que sou susceptível à atmosfera que me rodeia, aqui, no meu quarto, quando acendo a luz e vejo as folhas de papel, a mesa, o roupão
negligentemente poisado nas costas da cadeira, sinto que sou aquele homem simultaneamente ousado e prudente, aquela figura intrépida e perniciosa que, despindo o
casaco com elegância, agarra na caneta e de imediato se põe a escrever à rapariga por quem está profundamente apaixonado.
Sim, tudo é propício. Estou no estado de espírito adequado. Posso escrever de um só fôlego a carta que tantas vezes comecei. Acabei de entrar; deixei cair
o chapéu e a bengala; estou a escrever a primeira coisa que me veio à cabeça sem sequer me ter dado ao trabalho de endireitar o papel. Irá transformar-se num esboço
brilhante, a respeito do qual ela deverá pensar ter sido escrito sem uma pausa, sem uma emenda. Reparem como as letras estão desordenadas – ali há mesmo um borrão.
Tudo deverá ser sacrificado em nome da velocidade e do descuido. Utilizarei uma caligrafia pequena, apressada, exagerando a curva inferior do “y” e atravessando
os “t” assim – com um traço. A data será apenas terça-feira, dezessete, ao que se seguirá um ponto de interrogação. Todavia, devo dar-lhe a impressão de que muito
embora ele – pois este não sou eu – esteja a escrever de forma tão pouco cuidada, tão impetuosa, existe aqui uma subtil sugestão de intimidade e respeito. Terei
de aludir a conversas travadas por ambos – trazer à baila uma qualquer cena conhecida. Contudo, tenho de lhe dar a impressão (e isto é muito importante) de que salto
de uma coisa para outra com o maior à-vontade do mundo. Saltarei do trabalho para o homem que se afogou (tenho uma frase para isso), depois para Mrs. Moffat e os
seus ditos (tenho algumas notas a esse respeito), e só então farei algumas reflexões aparentemente casuais, mas repletas de profundidade (é com frequência as críticas
mais profundas serem feitas por acaso) sobre um qualquer livro que tenha andado a ler, um livro pouco conhecido.
Quero que ela diga quando escova o cabelo ou apaga a vela: “Onde é que li isto? Oh, na carta do Bernard!”. É na velocidade que reside o efeito quente, úmido,
o fluxo continuo de frases de que tanto preciso. Em quem estarei a pensar? Em Byron, claro. Sou como ele em alguns aspectos. Talvez que um pouco de Byron me ajude.
Talvez seja melhor ler uma ou duas páginas. Não; isto é maçador; fragmentado. Isto é demasiado formal. Comecei agora a sentir-lhe o ritmo (o ritmo é a característica
mais importante da escrita). Agora, e sem proceder a qualquer paragem, inspirado por esta cadência melodiosa, vou escrever tudo de um só fôlego.
Porém, não o consigo. Sou incapaz de reunir a energia suficiente para proceder à transição. O meu verdadeiro eu sobrepõe-se à máscara. Se recomeçar a escrever,
ela pensará: “O Bernard está a armar-se em intelectual; está a pensar no biógrafo” (o que até é verdade). Não, talvez seja melhor deixar a carta para amanhã, logo
a seguir ao pequeno-almoço.
Deixa-me antes de encher o espírito com cenas imaginárias. Vamos partir do princípio que me pedem para ficar em Restover, Kings Laughton, a três milhas de
Station Langley. No pátio desta casa em mau estado encontram-se dois ou três cães, esquivos, de pernas compridas. A entrada está coberta por tapetes desbotados;
um cavalheiro de porte marcial fuma o seu cachimbo enquanto percorre o terraço, de cá para lá e de lá para cá. O tom reinante é o de um misto de pobreza aristocrática
e de ligações com o exército. Em cima da escrivaninha vê-se o casco de um cavalo – o animal preferido. “Gosta de montar?” “Sim, adoro.” “A minha filha está à nossa
espera na sala.”
O coração quase me salta do peito. Ela está sentada junto a uma mesa baixa; esteve a caçar; há qualquer coisa de maria-rapaz na forma como mastiga o pão. O
coronel ficou com uma excelente impressão a meu respeito. Acha que não sou nem demasiado esperto nem demasiado rude. Também sei jogar bilhar. É então que entra na
sala a simpática criada que trabalha para a família há mais de trinta anos. Os pratos estão enfeitados com aves de longas caudas, bem ao estilo oriental. Por cima
da lareira pode ver-se o retrato da mãe, envergando um vestido de musselina. É com facilidade que descrevo aqui o que me rodeia. Mas será que consigo fazer com que
as coisas resultem? Serei capaz de ouvir a sua voz – o tom exacto com que pronunciará a palavra “Bernard” assim que nos encontremos a sós? E depois, o que virá a
seguir?
O certo é que preciso do estímulo alheio. A sós, junto à lareira apagada, consigo ver os pontos pouco consistentes da minha história. O verdadeiro romancista,
o ser humano verdadeiramente simples, seria capaz de continuar a dar largas à imaginação até quase ao infinito. Ao contrário do que se passa comigo, nunca se integraria.
Nunca se aperceberia do terrível facto de existirem inúmeras partículas de cinza repousando na grelha. É como se um estore se corresse por sobre o meu olhar. Tudo
adquire características impenetráveis. Sou obrigado a parar de inventar.
Deixa-me fazer um balanço do que se passou hoje. Em termos gerais, até foi um bom dia. A gota que se forma logo pela manhã no telhado da alma é redonda e tem
muitas cores. A manhã foi boa; passei a tarde a andar. Gosto de ver espirais elevando-se por entre os campos cinzentos. Gosto de olhar por entre os ombros das pessoas.
Estavam-me sempre a vir imagens à mente. Fui imaginativo, subtil. Depois do jantar, mostrei-me dramático. Transformei em factos concretos muitas coisas a respeito
dos nossos amigos comuns de que apenas me tinha apercebido vagamente. Foi com facilidade que fiz as minhas passagens. Agora, sentado de frente a este lume cinzento,
com os seus promontórios de carvão escuro, talvez não seja má ideia interrogar-me a respeito de qual destas pessoas sou. Depende tanto da sala. Quando digo para
mim mesmo a palavra “Bernard”, quem é que aparece? Um homem fiel, sardônico, desiludido, se bem que não amargurado. Um homem sem qualquer idade ou ocupação específicas.
Ou seja, apenas eu. É ele quem agora pega no atiçador e sacode as cinzas, fazendo-as escoar-se através da grelha. “Meu Deus”, diz ele ao vê-las cair, “que fumarada!”,
ao que a seguir acrescenta de forma lúgubre, mas que à laia de consolo: “A Mrs. Moffat virá varrer tudo isto”– acho que irei repetir muitas vezes esta frase ao longo
da vida. “Oh, sim, a Mrs. Moffat virá varrer tudo isto.” “E o melhor será mesmo ir para a cama.”
– Num mundo que contém o momento presente – disse Neville –, para quê discriminar? Não deveríamos dar nomes a coisa alguma, já que, ao fazê-lo, estamos a alterá-la.
Deixemo-las existir, esta margem, esta beleza, para que eu, por um só instante que seja, possa sentir prazer. O sol está quente. Contemplo o rio. Vejo as árvores
manchadas e como que incendiadas pelo sol avermelhado do Outono. Os barcos vão passando a flutuar, ora através do vermelho ora através do verde. Lá longe, os sinos
dobram, se bem que não pelos mortos. Estas campainhas são antes um louvor à vida. A felicidade faz com que uma folha caia. Oh, estou apaixonado pela vida! Reparem
só como o salgueiro estende os ramos pelo ar! Reparem só como um barco recheado de jovens indolentes, fortes e inconscientes, passa através deles. Os rapazes têm
um gramofone ligado e estão a comer fruta que tiram de dentro de sacos de papel. Atiram as cascas das bananas para o rio, e aquelas acabam por se afundar com um
movimento semelhante ao das enguias. Tudo o que fazem é belo. Atrás deles estão galheteiros e ornamentos; os seus quartos estão cheios de remos e oleografias, mas
acabaram por transformar tudo em beleza. O barco em que seguem passa por baixo da ponte. Há outro que se aproxima, de pronto seguido por mais outro. Lá está o Percival
reclinado nas almofadas, monolítico, num repouso de gigantes. Não, é apenas um dos que em torno dele giram, imitando a sua postura monolítica. O próprio Percival
não tem consciência dos seus truques, e, quando por acaso deles se apercebe, afasta-os com um gesto bem-humorado. Também eles passaram por baixo da ponte, pela fonte
das árvores pendentes, através das suas delicadas tonalidades de amarelo e cor de ameixa. Sopra uma ligeira brisa; a cortina agita-se; por detrás dela surge uma
série de edifícios graves, se bem que eternamente felizes, os quais parecem porosos, e não compactos; leves, apesar de construídos na turfa eterna. Começa agora
a soar em mim um ritmo familiar; as palavras que até agora haviam estado adormecidas vão aos poucos elevando-se, sobem e descem, e voltam a subir e a descer. Sim,
sou poeta. Só posso ser um grande poeta. Barcos cheios de jovens e árvores distantes, a fonte das árvores pendentes. Tudo isto vejo. Tudo isto sinto. Sinto-me inspirado.
Os olhos enchem-se-me de lágrimas. Todavia, e apesar de me sentir assim, tento refrear o mais possível o frenesi que sinto. Este espuma. Torna-se artificial, pouco
sincero. Palavras, palavras e palavras, observem o modo como galopam, como abanam as longas caudas e crinas, mas, e por qualquer falha minha, não me posso dar ao
luxo de as montar; não posso voar junto com elas. Existe em mim um qualquer defeito, uma qualquer hesitação fatal, que, se não lhe prestar atenção, se transforma
em espuma e falsidade. Contudo, mal consigo acreditar que não possa vir a ser um grande poeta. Se o que escrevi ontem à noite não é poesia, então o que é? Serei
demasiado rápido, demasiado fácil? Não sei. Às vezes não me conheço, chegando mesmo a não saber como medir, contar e classificar os grãos que compõem aquilo que
sou.
Há algo que me abandona; algo que se afasta de mim e vai ao encontro da figura que se aproxima, o que me faz ter a certeza de a conhecer, mesmo antes de ver
quem é. Como é curioso o modo como nos transformamos na presença de um amigo – mesmo que este esteja longe. Como é útil o serviço que os amigos nos prestam quando
nos procuram. No entanto, como é doloroso vermos o nosso eu adulterado, misturado, como que fazendo parte de outra criatura. À medida que ele se aproxima, transforma-se
numa mistura do Neville com mais alguém – quem? – com o Bernard? Sim, é mesmo o Bernard, e é a ele que deverei colocar a questão: “Quem sou eu?”.
– Que estranho parecem os salgueiros quando vistos em conjunto – disse Bernard. – Eu era Byron, e as árvores eram as árvores de Byron, lacrimosas, de ramos
pendentes, como que a lamentarem-se. Quando olhamos atentamente apenas para uma árvore, vemos que tudo combina, até mesmo os ramos mais diferentes, e, forçado pela
tua claridade, vejo-me obrigado a dizer o que sinto.
Sinto a tua desaprovação, a tua força. Junto contigo, transformo-me num ser humano desordenado e impulsivo, cujo lenço está para sempre manchado com a gordura
dos bolos. Sim, seguro um livro de Gray numa das mãos (trata-se do Elegy), enquanto com a outra agarro o último bolo, aquele que absorveu toda a manteiga e ficou
agarrado ao fundo do prato. O facto ofende-te; sinto o teu descontentamento. Inspirado por ele e ansioso por voltar a cair nas tuas boas graças, começo a contar-te
a forma como consegui arrancar o Percival da cama; descrevo os seus chinelos; a mesa e a vela gotejante que se encontram no quarto; os seus protestos e amuos quando
o destapo; o modo como ele acaba por se enroscar como se fosse um casulo gigante. Descrevo tudo isto de tal forma, que, muito embora estejas embrenhado numa qualquer
mágoa particular (pois há uma figura embuçada a presidir ao nosso encontro), acabas por ceder, soltas uma gargalhada e delicias-me. O meu encanto e o modo como me
exprimo, inesperado e espontâneo, também me deliciam. Sempre que desnudo as coisas através das palavras, fico espantado com o quanto o meu poder de observação é
bem mais desenvolvido que a linguagem que utilizo. À medida que falo, são cada vez mais as imagens que me vêm à cabeça. É isto mesmo que preciso, digo eu para comigo;
sendo assim, por que razão não consigo acabar a carta que estou a escrever? O certo é que o meu quarto está sempre cheio de cartas por acabar. Começo a suspeitar
de que quando estou contigo me encontro entre o mais dotado dos homens. Sinto-me invadido pelas delícias da juventude, da força, do sentido do que está para vir.
Aos tropeções, mas cheio de fervor, vejo-me a zumbir em torno das mais variadas flores, descendo ao longo de corolas escarlates, fazendo com que os funis azuis ecoem
os sons prodigiosos que provoco. Com que riqueza gozarei a juventude (pelo menos é assim que me fazes sentir!). E Londres. E a liberdade. Mas o melhor é parar. Não
me estás a ouvir. Ao deslizares a mão pelo joelho, num gesto indescritivelmente familiar, é como se estivesses a fazer um qualquer protesto. É através destes sinais
que diagnosticamos as doenças dos amigos. Pareces estar a dizer: “Por favor, na tua plenitude e fluência, não te esqueças de mim. Pára. Pergunta qual a razão que
me leva a sofrer”.
Deixa-me inventar-te. (Fizeste tanto por mim.) Estás deitado nesta margem quente, neste incrível dia de Outubro, à hora em que o Sol se põe mas tudo é ainda
claro, a ver passar os barcos através dos ramos despenteados do salgueiro. Queres ser poeta; queres amar. Mas a claridade esplêndida da tua inteligência, a honestidade
impiedosa do teu intelecto (foi contigo que aprendi estas palavras latinas; tratam-se de qualidades que possuis e que me deixam pouco à vontade, revelando os pontos
fracos do meu próprio eu) obrigam-te a parar. És incapaz de te deixar mistificar. Não te iludes com nuvens cor-de-rosa e amarelas.
Será que estou certo? Terei lido correctamente o gesto da tua mão esquerda? Se assim foi, deixa-me ver os teus poemas; com a mão por sobre as folhas, ontem
à noite escreveste de forma tão inspirada, que agora te estás a sentir um tudo-nada idiota. O certo é que não confias na inspiração, nem na tua nem na minha. O melhor
a fazer é passarmos a ponte, caminhar por baixo dos ulmeiros, e voltar ao meu quarto, onde, apenas com as paredes à nossa volta e as cortinas de sarja vermelha corridas,
podemos manter longe de nós estas vozes que nos distraem, estes cheiros e sabores a lima e a outras vidas; a estas caixeirinhas insolentes que arrastam os pés; a
estas olhadelas furtivas que nos são enviadas por uma qualquer figura vaga e indistinta – talvez a Jinny, talvez a Susan, ou seria antes a Rhoda, desaparecendo ao
fundo da alameda? Mais uma vez, e apenas devido a uma ligeira piscadela de olhos, volto a adivinhar o que sentes; escapei-te; desapareci a zumbir como se fosse um
enxame de abelhas, sem qualquer vestígio da tua capacidade de se fixar num único objecto sem sentir remorsos. No entanto, acabarei por voltar.
– Onde existem edifícios como estes – disse Neville –, não suporto a presença de caixeirinhas. Sinto-me ofendido pela sua tagarelice, pelos seus risinhos;
é algo que perturba a minha calma, fazendo com que, em momentos da mais pura exaltação, me veja obrigado a lembrar a degradação humana.
Mas agora, depois das bicicletas, do odor a lima e das figuras que desapareciam nas esquinas, reconquistamos o território que nos pertence. Aqui, somos mestres
da tranquilidade e da ordem; herdeiros de uma tradição orgulhosa. As luzes começam a abrir fendas na praça. O nevoeiro que se eleva do rio vai enchendo estes espaços
antigos. Com toda a suavidade, vão-se agarrando às pedras esbranquiçadas. Nas encostas, as folhas tornaram-se pesadas, as ovelhas balam nos campos úmidos; contudo,
no teu quarto estamos secos. Falamos na maior das intimidades. As chamas elevam-se e esmorecem, fazendo brilhar um qualquer puxador.
Tens andado a ler Byron. Sublinhaste as passagens que parecem estar de acordo com a tua personalidade. Descubro traços por baixo de todas as frases que parecem
exprimir uma natureza, não só sardônica mas também apaixonada; uma impetuosidade que, semelhante a uma borboleta, se precipita contra um vidro duro. Quando pegaste
no lápis, por certo que pensaste: “Eu também dispo a capa da mesma maneira. Eu também estalo os dedos no rosto do destino, desafiando-o”. Porém, Byron nunca fez
chá como tu fazes, enchendo o bule de forma tal, que, quando pões a tampa, o líquido se espalha pela mesa. Existe agora no tampo da mesa uma espécie de lago castanho,
e este espalha-se por entre os teus livros e papéis. Acabas por tentar ensopar o líquido, desajeitado, usando o lenço de assoar. Voltas a guardar o lenço no bolso
– isso não é Byron; és tu; és de tal maneira tu que, daqui a vinte anos, quando formos ambos famosos, atacados pelo reumático e intolerantes, será precisamente por
causa desta cena que te recordarei. E, se por acaso tiveres morrido, chorarei. Houve um tempo em que eras discípulo de Byron; talvez um dia o venhas a ser de Meredith;
depois, hás-de ir a Paris durante as férias da Páscoa e voltarás de gravata preta, transformado em qualquer francês detestável de que nunca se ouviu falar. Deixarei
então de ser teu amigo.
Limito-me a ser uma pessoa – eu. Não tento representar o papel de Catulo, a quem adoro. Sou o mais aplicado de todos os alunos, sempre agarrado a este dicionário
ou àquele bloco de apontamentos, onde acabo por notar todas as formas curiosas de usar o particípio passado. Contudo, ninguém pode passar a vida a desbastar todas
estas inscrições antiquíssimas. Deverei sempre correr o cortinado de forma a ver o livro que leio, semelhante a um bloco de mármore, única e exclusivamente à luz
pálida da lâmpada? Seria de facto uma vida grandiosa; uma espécie de dependência da perfeição; seguir a curva da frase fosse ela para onde fosse, para os desertos,
para as dunas, sem prestar qualquer atenção aos chamados que nos costumam esperar pelo caminho; ser sempre pobre e desamparado; fazer figuras ridículas em Picadilly.
Porém, sou demasiado nervoso para terminar as frases do modo mais apropriado. Falo muito depressa e ando de um lado para o outro, tentando ocultar a minha
agitação. Odeio os lenços gordurosos que possuis – vais acabar por manchar o teu Don Juan. Não me estás a ouvir. Estás antes a falar a respeito de Byron. E enquanto
vais gesticulando, ainda de capa e bengala, tento revelar um segredo que ainda ninguém sabe; estou a pedir-te (é isso que faço mesmo com as costas viradas para ti)
para que tomes a minha vida nas mãos e me respondas se estou condenado a causar sempre má impressão em todos aqueles que amo.
Estou de costas viradas para o teu gesticular. Não, as minhas mãos não podiam estar mais sossegadas. É então que procuro um espaço vazio entre os livros da
estante e aí coloco o teu exemplar do Don Juan. Preferiria ser amado, preferiria ser famoso, a perseguir a perfeição através da areia. Mas será que estou condenado
a provocar a aversão alheia? Serei poeta? Toma, aceita. O desejo que se esconde atrás dos meus lábios, frios como chumbo, mais parece uma bala, algo que aponto às
caixeiras, às mulheres, à falsidade e vulgaridade da vida (e isto precisamente porque a amo) e dirige-se na tua direcção. Apanha – é o meu poema.
– Ele disparou algo semelhante a uma seta – disse Bernard. – Deixou-me o seu poema. Ah, amizade, também eu colocarei flores entre as páginas dos sonetos de
Shakespeare! Ah, amizade, como são penetrantes os teus dardos – ali, ali, mais uma vez ali. Voltou-se para mim, olhou-me bem nos olhos; deixou-me o seu poema. Todos
os vapores se escoam através da chaminé do meu ser. Guardarei até à morte a confiança por ti demonstrada. Semelhante a uma onda de grandes dimensões, semelhante
a uma coluna de águas pesadas, ele passou-me por cima (ou pelo menos a sua presença devastadora) e deixou a descoberto todos os seixos existentes na praia que é
a minha alma. Foi humilhante; vi-me transformado numa série de pequenas pedras. Desapareceram todas as semelhanças. Tu não és o Byron; és apenas tu mesmo. É tão
estranho que alguém nos tenha obrigado a ficar reduzidos a um único ser.
É tão estranho sentir que a linha que se estende a partir de nós vai avançando ao longo dos espaços enevoados que constituem o mundo exterior. Ele já partiu.
Eu fiquei, segurando o seu poema. Entre nós existe esta linha. Contudo, é tão reconfortante saber que aquela presença estranha deixou de se fazer sentir, que deixei
de ser observado! E tão bom correr os estores e admitir que não está mais ninguém presente, sentir que todas aquelas figuras familiares que ele e a sua força superior
fizeram fugir, regressam dos cantos escuros onde se refugiaram. Os espíritos observadores e trocistas que, mesmo neste momento, de crise, zelaram por mim, voltam
a casa. Com a sua ajuda, sou; o Bernard; sou Byron; isto, aquilo, aquele outro. Escurecem o ar e tornam-me mais rico com as suas atitudes trocistas, os seus comentários,
obscurecendo a simplicidade deste momento de emoção. É que eu tenho mais personalidade do que aquela que o Neville julga. Não somos tão simples como aquilo que os
nossos amigos gostariam que fôssemos. No entanto, amar é simples.
Eles regressam, os meus companheiros, a minha família... Agora, a ferida aberta pelo Neville está prestes a sarar. Estou praticamente completo; reconheço o
quanto sou alegre fazendo entrar em cena tudo o que o Neville ignora a meu respeito. Ao afastar as cortinas para observar o que se passa lá fora, sinto que o facto
pouco ou nenhum prazer lhe daria; mas a mim faz-me rejubilar. (Servimo-nos dos amigos para medir o quanto valemos.) A minha visão abrange aquilo que o Neville é
incapaz de alcançar. Lá fora há quem cante canções de caça. Estão a fazer uma espécie de corrida com os perdigueiros. Os rapazinhos de boné não param de bater nos
ombros uns dos outros e de se gabar. Todavia, o Neville, evitando todo o tipo de interferência e semelhante a um conspirador, escapa-se sorrateiramente para o quarto.
Vejo-o afundar-se na cadeira e olhar para as chamas da lareira, que, durante breves instantes, assumiu uma solidez arquitectónica. Pensa no quanto seria bom se a
vida pudesse assumir essa permanência, se a vida pudesse apresentar a mesma ordem – pois aquilo que ele mais deseja é a ordem, detestando a minha desordem byroniana.
É então que corre a cortina e o fecho da porta. Os seus olhos (pois o certo é que o rapaz está apaixonado; a figura sinistra do amor presidiu ao nosso encontro)
enchem-se de desejo; enchem-se de lágrimas. Agarra no atiçador e, com um só gesto, destrói a aparência momentânea de solidez que até então caracterizou os carvões
incandescentes. Tudo muda. A juventude e o amor. O barco passou através do arco constituído pelos salgueiros e está agora debaixo da ponte. O Percival, o Tony, o
Archie, e talvez mais um ou outro, irão para a Índia. Nunca mais nos veremos. Estende então a mão para o bloco de apontamentos – um caderno grosso e embrulhado em
papel mosqueado – e começa a escrever febrilmente, imitando o poeta que mais admira de momento.
Porém, eu quero ficar; debruçar-me à janela; escutar. Lá vem de novo o refrão. Os rapazes estão agora a partir louça – trata-se de algo que também faz parte
da convenção. O refrão, semelhante a uma avalancha de enormes rochas, assalta brutalmente as velhas árvores, e deságua num abandono esplêndido em todos os precipícios.
E lá vão eles a rolar, a galopar, atrás dos cães, atrás das bolas de futebol; sobem e descem como se fossem sacos de farinha agarrados a remos. As divisões desapareceram
– agem como um único homem. O vento forte de Outubro arrasta o tumulto pelo pátio, transformando-o numa malha de som e silêncio. Estão de novo a partir louça – também
isso faz parte da convenção. Uma mulher de idade segue para casa avançando a passo incerto, ao mesmo tempo que transporta uma mala. Vê-se que tem receio que a ataquem
e a deixem caída na sarjeta. Mesmo assim, acaba por parar como se quisesse aquecer as mãos deformadas pelo reumático à chama quente da fogueira, de onde se elevam
inúmeras faúlhas e pedaços de papel. A velhota pára frente à janela iluminada. É isso que sinto, mas o Neville é incapaz de o fazer. É essa a razão que o fará alcançar
a perfeição, enquanto eu me limitarei a deixar atrás de mim uma série de frases imperfeitas, inundadas de areia.
Vem-me agora à mente a imagem do Louis. Que luz maléfica, se bem que inquiridora, lançaria ele sobre este entardecer outonal, sobre este partir de objectos
de louça e este trautear de canções de caça, sobre o Neville, Byron, e a vida que aqui levamos? Os seus lábios finos estão como que cosidos; o rosto é muito pálido;
encontra-se num escritório, embrenhado na leitura de um qualquer documento oficial obscuro. “O meu pai, que é banqueiro em Brisbane – apesar de se envergonhar dele,
está sempre a falar no pai – falhou”. – É por isso que se encontra sentado no escritório, o Louis, o melhor aluno da escola. Todavia, e dado que ando sempre à procura
de contrastes, é com frequência que vejo que tem os olhos trocistas, selvagens, poisados em nós, somando-nos como se fôssemos algarismos insignificantes numa qualquer
conta de grandes dimensões, cujo total não pára de perseguir. E, mais cedo ou mais tarde, molhando em tinta vermelha o aparo de uma qualquer bela caneta, a soma
estará completa; saberemos qual o nosso total; contudo, isso não chegará.
Bang! Acabaram de atirar uma cadeira contra a parede. Sendo assim, estamos condenados. O meu caso é igualmente dúbio. Não estarei eu a deixar-me levar por
emoções injustificadas? Sim, quando me debruço à janela e deixo cair o cigarro, fazendo-o girar levemente até poisar no chão, sinto que o Louis está também a observá-lo.
E diz: “Isso significa qualquer coisa. Mas quê?”.
– As pessoas continuam a passar – disse Louis. – Estão sempre a passar frente à janela deste restaurante. Automóveis, carrinhas, autocarros; e mais uma vez
autocarros, carrinhas, automóveis, todos passam pela janela. Como pano de fundo, apercebo-me da existência de lojas e casas, e também das espirais cinzentas de uma
igreja. Bem à minha frente encontram-se prateleiras de vidro onde repousam pratos carregados de bolos de leite e sandes de fiambre. Tudo isto é como que tornado
difuso pelo vapor que se eleva de um bule de chá. Bem no centro do restaurante paira um cheiro gorduroso a carne de vaca e carneiro, a salsichas e a papas. Encosto
o livro a uma garrafa de molho de Worcester e tento parecer-me com todos os outros.
Porém, nunca o consigo. (Eles continuam a passar, continuam a passar numa procissão desordenada.) Não consigo ler, nem mesmo pedir que me tragam a carne, com
um mínimo de convicção. Estou sempre a repetir “Sou um inglês médio; sou um funcionário público médio”, mas acabo sempre por olhar para o homem sozinho da mesa ao
lado para me certificar do que ele faz. De rostos flexíveis e peles elásticas, a multiplicidade das sensações com que se debatem fazem-nos estar constantemente a
estremecer. Semelhantes a macacos, bastante engordurados como convém à situação. Enche demasiado a sala a um deles. Vendo-o por dez libras. As pessoas continuam
a passar; continuam a passar recortando-se contra as espirais da igreja e as sandes de fiambre. A linha condutora dos meus pensamentos é profundamente afectada por
esta desordem. É por isso que não me consigo concentrar no jantar. “Vendo-o por dez libras. É um móvel bonito mas enche-me demasiado a sala.” Precipitam-se para
as águas como mergulhões com as penas escorregadias devido ao óleo. Todos os excessos que estão para além daquela norma podem ser considerados como vaidade. É isto
o meio-termo; é isto a média. Enquanto isso, os chapéus não param de balançar para baixo e para cima; a porta não pára de se abrir e fechar. Tenho consciência do
fluxo, da desordem; do aniquilamento e do desespero. Se isto é tudo, então não vale a pena. Mesmo assim, não deixo de sentir o ritmo do restaurante. É como se de
uma valsa se tratasse, rodopiando, sempre a rodopiar. As criadas, balançando travessas, não param de girar leite-creme; entregam-nos na altura certa, ao cliente
certo. Os indivíduos normais, incluindo o ritmo delas nos seus próprios ritmos (“Vendo-o por dez libras; aquilo está-me a encher a sala”) aceitam as saladas, os
damascos, os pratos de leite-creme. Onde estará, pois, a brecha dentro de toda esta continuidade? Através de que fissura poderemos nós antecipar a catástrofe? O
círculo não se quebra; a harmonia está completa. É aqui que se situa o ritmo central; é aqui que se encontra a mola comum. Vejo-a expandir e contrair, apenas para
de pronto voltar a se expandir. Contudo, estou de fora. Se falo, imitando a sua pronúncia, ficam de orelhas arrebitadas, à espera que volte a falar, pois estão desejosos
de saber de onde venho – se do Canadá se da Austrália. Eu, que acima de tudo desejo ser amado, sou um estranho, uma criatura que não pertence ao meio. Eu desejaria
sentir fechar-se sobre mim as ondas protectoras da vulgaridade, consegui ver pelo canto do olho um qualquer horizonte distante; apercebo-me de um mar de chapéus
agitando-se para cima e para baixo, numa desordem permanente. É a mim que se dirigem as queixas dos espíritos errantes dos distraídos (uma mulher de dentes estragados
tropeça junto ao balcão). “Leva-nos de volta ao rebanho, a nós, que caminhamos de forma tão dispersa, baloiçando-nos para cima e para baixo, tendo como pano de fundo
vitrinas com pratos de sandes de fiambre. Sim, acabarei por vos reduzir à ordem.
Vou ler o livro que está encostado à garrafa de molho de Worcester. Trata-se de um livro com alguns anéis bastante apertados, algumas afirmações perfeitas,
poucas palavras, mas poesia. Vós, todos vós, ignoram-no. Já se esqueceram do poeta morto. E eu não as posso traduzir para vós de forma a que o poder que delas emana
vos faça ver com clareza a falta de objectivos que vos caracteriza; o quanto o vosso ritmo é barato e inútil; removendo assim aquela degradação que, a não se aperceberem
da vossa falta de objectivos, vos tornará senis mesmo quando jovens. A minha missão será traduzir este poema de forma a torná-lo acessível a todos. Eu, o companheiro
de Platão e de Virgílio, também baterei à porta de painéis de carvalho. Não me submeterei a este desfile inútil de chapéus de coco e cartolas, bem assim como a todas
as plumas que ornamentam as cabeças das mulheres. (A Susan, a quem tanto respeito, limita-se a usar um chapéu de palha durante o Verão, quando o sol é forte.) E
os grãos de vapor que escorrem em gotas desiguais pelo caixilho da janela; e as paragens e os arranques bruscos dos autocarros; e os tropeções junto ao balcão; e
as palavras que vagueiam de forma lúgubre e sem qualquer sentido humano; tudo isto porei em ordem.
As minhas raízes atravessam veios de chumbo e prata, locais úmidos e pântanos que exalam odores, até atingirem um nó feito de raízes de carvalho, bem no centro
do mundo. Surdo e cego, com os ouvidos cheios de terra, mesmo assim escutei rumores de guerras; e também de rouxinóis; senti o som dos passos de inúmeras colunas
de soldados precipitando-se em defesa da civilização, mais ou menos como se fossem aves migratórias em busca do Verão; vi mulheres transportando ânforas vermelhas
até às margens do Nilo. Acordei num jardim, com uma pancada na nuca e um beijo quente; era a Jinny. Lembro-me de tudo isto como alguém que se lembra de gritos confusos
e do desmoronar de colunas negras e vermelhas no decorrer de um qualquer confronto nocturno. Não paro de dormir e de acordar. Ora durmo; ora acordo. Vejo o bule
de chá; as vitrinas repletas de sandes de um amarelo-pálido; os homens de casacões compridos empoleirados nos bancos junto ao balcão; e também, bem atrás deles,
a eternidade. Trata-se de uma imagem que me foi gravada na carne por um homem encapuzado empunhando um ferro em brasa. Vejo este restaurante recortar-se contra as
asas multicoloridas das aves que pertencem ao passado. É por isso que comprimo os lábios, que tenho uma palidez doentia; é daí que vem o meu aspecto pouco simpático
e a amargura com que viro o rosto na direcção do Bernard e do Neville, que passeiam por entre os teixos, que herdam cadeiras de baloiço; e que correm as cortinas
para que a luz das lâmpadas incida sobre os livros que estão a ler.
A Susan merece o meu respeito porque sabe coser. Está sentada a costurar à luz de uma pequena lâmpada, numa casa onde os campos de milho chegam quase até à
janela, facto que me dá bastante segurança. O certo é que sou o mais fraco e o mais novo de todos eles. Sou uma criança que olha para os pés e para os pequenos canais
que a água abriu no cascalho. Digo para mim mesmo que isto é um caracol e aquilo uma folha. Delicio-me com os caracóis; delicio-me com as folhas. Serei sempre o
mais jovem, o mais inocente, o mais crédulo. Vocês estão todos protegidos. Eu estou nu. Quando a empregada se desloca, é para vos entregar os damascos e o leite-creme
sem qualquer hesitação, como uma irmã. Vocês são seus irmãos. Mas quando me levanto, sacudindo as migalhas do sobretudo, coloco uma gorjeta demasiado elevada, um
xelim, bem debaixo do prato, pois assim ela só a poderá encontrar depois de eu ter saído, e o seu desprezo, revelado por uma gargalhada, só me poderá atingir depois
de eu ter passado as portas de vaivém.
– O vento levanta a persiana – disse Susan. – Jarras, taças, tapetes, e até mesmo a velha poltrona coçada, aquela que tem um buraco, tudo se tornou distante.
As mesmas listras desmaiadas espalham-se pelo papel de parede. As aves deixaram de cantar em coro, e apenas uma teima em o fazer, junto à janela do quarto. Vou calçar
as meias e esgueirar-me em silêncio pela porta, atravessar a cozinha e o jardim, passar junto à estufa e acabar no prado. É ainda muito cedo. A charneca está coberta
de nevoeiro. O dia é duro e áspero como uma mortalha de linho. Porém, acabará por se tornar macio e por aquecer. A esta hora, a esta hora matinal e calma, julgo-me
o campo, o celeiro, as árvores; os bandos de aves pertencem-me, o mesmo se passando com esta jovem lebre, que dá um passo no preciso momento em que a estou prestes
a pisar. Minha é a garça que, com indolência, estende as enormes asas; a vaca que vai ruminando à medida que avança; o vento e as andorinhas ariscas; o vermelho
desmaiado do céu e o verde em que este acaba por se transformar; o silêncio e os sinos a tocar; o chamamento do homem que atrela os cavalos ao carro, tudo me pertence.
Não posso ser dividida, separada. Mandaram-me para a escola; mandaram-me para a Suíça para completar a minha educação. Odeio linóleo; odeio figueiras e montanhas.
Deixem-me antes deitar neste solo liso, tendo por cima de mim um céu muito pálido onde as nuvens se movem devagar. O carro vai-se tornando cada vez maior à medida
que sobe a estrada. As aves juntam-se no meio do correio – ainda não precisam de voar. O fumo vai-se elevando. A rigidez do amanhecer vai desaparecendo. O dia começa
a se agitar. Assiste-se ao regressar da cor. As cearas e o dia vão-se tornando amarelos. A terra pesa bastante por baixo dos pés.
Mas, afinal, quem sou eu, esta pessoa que se encosta ao portão e observa o nariz do cão que a acompanha? Às vezes penso (ainda não cheguei aos vinte) que não
sou uma mulher, mas antes a luz que incide neste portão, no solo. Por vezes, penso ser as estações do ano, Janeiro, Maio, Novembro; a lama, o nevoeiro, a alvorada.
Não posso ser empurrada para o meio dos outros sem me misturar com eles. Contudo, apoiada ao portão, sinto um peso que se formou junto a mim e me acompanha. Na Suíça,
quando estava na escola, formou-se em mim qualquer coisa, qualquer coisa de forte.
Nada de suspiros e gargalhadas, de rodeios e frases ingênuas; nada que se compare à estranha forma de comunicar característica da Rhoda, o modo como ela nos
olha por cima do ombro quando nos avista; nem as piruetas da Jinny, uma criatura que parece ter sido feita de uma só peça, tronco e membros. O que tenho para dar
é pesado. Não consigo flutuar com suavidade nem misturar-me com os outros. Prefiro o olhar dos pastores que encontro no caminho; o olhar das ciganas que alimentam
os filhos ao lado das carroças, exactamente do mesmo modo que amamentarei os meus filhos. Já não falta muito para que, ao calor do meio-dia, com as abelhas a zumbir
em torno das malvas, o meu amado entre em cena. Por certo que estará à sombra do cedro. Responderei à sua saudação com apenas uma palavra. Dar-lhe-ei aquilo que
se formou em mim. Terei filhos, criadas de avental, camponeses com forquilhas, uma cozinha para onde levarão os cordeiros doentes para que se possam aquecer, onde
os presuntos e as réstias de cebolas brilharão à luz. Serei como a minha mãe, silenciosa no seu avental azul, fechando à chave todos os armários.
Estou com fome. Vou chamar o cão. Vêm-me à ideia imagens de côdeas, miolo de pão, manteiga e pratos brancos colocados numa divisão cheia de sol. Voltarei a
casa através dos campos. Caminharei por entre a erva com passadas fortes e regulares, ora desviando-me para evitar uma poça ora saltando por cima de um arbusto.
Vão-se formando gotas de suor na minha camisa grosseira; os sapatos tornam-se flexíveis e escuros. O dia já não revela sinais de dureza; antes adquiriu tonalidades
cinzentas, verdes e ocres. As aves deixaram de se concentrar na estrada.
Regresso, qual raposa ou gato em cujas peles a geada deixou manchas cinzentas e cujas patas endureceram devido ao contacto com a terra dura. Abro caminho através
das couves, o que faz com que as suas folhas estalem e o orvalho que nelas repousa vá caindo aos poucos. Sento-me à espera de ouvir os passos do meu pai arrastando-se
através da passagem, apertando uma qualquer erva entre os dedos. Vou enchendo chávena após chávena, enquanto as flores que ainda não abriram se mantêm muito direitas
na jarra que se encontra na mesa, por entre os frascos de compota, os pãezinhos e a manteiga.
Mantemo-nos em silêncio.
Vou até ao armário e pego nas sacas úmidas onde se guardam as sultanas; espalho a farinha na mesa da cozinha, a qual está impecavelmente limpa. Amasso; estendo;
bato; enfio as mãos no interior quente da massa. Deixo que a água fria se espalhe por entre os meus dedos. O lume ruge; as moscas zumbem em círculos. Todas as minhas
passas-de-corinto e bagos de arroz, os saquinhos azuis e prateados, tudo isto voltou a ser fechado no armário. A carne está ao lume; a massa para o pão vai aumentando
de tamanho por baixo de uma toalha limpa, adquirindo o formato de uma cúpula. De tarde, desço até ao rio. O mundo está-se a reproduzir por inteiro. As moscas vão
voando de erva em erva. As flores estão pesadas devido ao pólen. Os cisnes vogam pelas águas na mais perfeita das ordens. As nuvens, agora quentes e manchadas de
sol, voam por sobre as colinas, deixando um rasto dourado na água e no pescoço dos cisnes. Levantando uma pata a seguir à outra, as vacas vão ruminando enquanto
percorrem o pasto. Vasculho a erva à procura de um cogumelo branco; parto-lhe o caule e apanho a orquídea cor de rubi que cresce junto a ele, acabando por juntar
ambas as coisas ao pé uma da outra, a terra ainda agarrada às raízes. Está na hora de ir para casa preparar o chá para o meu pai e servi-lo na mesa onde se encontram
as rosas vermelhas.
É então que chega a noite e se acendem as luzes. E quando a noite chega e as luzes se acendem, a hera como que fica iluminada por um halo amarelo. Sento-me
junto à mesa com a minha costura. Penso na Jinny; na Rhoda; e ouço o ruído provocado pelas rodas das carroças puxadas pelos cavalos da quinta ao regressarem a casa;
o vento nocturno traz-me o rugido do trânsito. Olho para as folhas que estremecem no jardim às escuras e penso: “Estão todos em Londres a dançar. A Jinny está a
beijar o Louis.”
– É tão estranho – disse Jinny – que as pessoas durmam, que apaguem as luzes e subam as escadas. A estas horas já tiraram os vestidos e puseram camisas de
dormir brancas. Já não há luzes em nenhuma daquelas casas. Os contornos das chaminés recortam-se contra o céu; na rua, umas duas lâmpadas ardem do modo que lhes
é peculiar quando delas ninguém precisa. Nas ruas só se vêem alguns pobres apressados. Nesta rua não existe ninguém; o dia terminou. Há alguns polícias nas esquinas.
No entanto, só agora começou a noite. Sinto-me brilhar na escuridão. Sinto o toque da seda nos joelhos. Esfrego suavemente uma perna contra a outra. Sinto no pescoço
o toque frio das pedras do colar. Sinto os pés comprimidos dentro dos sapatos. Estou sentada muito direita para não tocar com o cabelo no espaldar da cadeira. Estou
enfeitada, estou preparada. Esta é apenas uma pausa momentânea; o instante escuro. Os violinistas acabaram de levantar os arcos.
Neste momento ouço um carro parar. Faz-se luz numa faixa do pavimento. A porta vai-se abrindo e fechando. As pessoas estão a chegar; não falam; limitam-se
a entrar. Ouço o som sibilante provocado pelas capas deslizando pelos ombros dos que as despem. Trata-se do prelúdio, do princípio. Olho, espreito, espalho pó no
rosto. Tudo está certo; devidamente preparado. O meu cabelo descreve uma curva. Os meus lábios têm o devido tom de vermelho. Estou pronta a me juntar aos homens
e mulheres que percorrem a escada, os meus pares. Passo por eles e exponho-me aos seus olhares do mesmo modo que eles se expõem ao meu. Semelhantes a relâmpagos,
olhamo-nos sem mostrar sinais de reconhecimento ou de que estamos dispostos a abrandar. A comunicação é feita através dos corpos. É este o meu chamamento. É este
o meu mundo. Tudo está pronto e decidido; os criados, sempre, sempre presentes, pegam no meu nome, no meu nome fresco e desconhecido, e lançam-no à minha frente.
Entro.
Cá estão as cadeiras douradas nas salas vazias e como que à espera, e flores (maiores e muito mais paradas que as naturais) recortando-se contra as paredes
em manchas verdes e brancas. Foi com tudo isto que sonhei; foi tudo isto que pressagiei. Pertenço a este mundo. Piso com naturalidade as carpetes espessas. Deslizo
com facilidade por sobre os soalhos encerados. Sob esta luz, sob este cheiro, começo a me desdobrar, semelhante a um feto, cujas folhas se vão desdobrando aos poucos.
Paro. Tomo consciência deste mundo. Entre as formas brilhantes das mulheres, verdes, cor-de-rosa, cinzento-pérola, encontram-se os corpos direitos dos homens. Estão
vestidos de preto e branco; estão como que ocultos por detrás das roupas. Volto a ver a imagem de um túnel reflectida na janela. Aquela acaba por se mover. À medida
que avanço, as figuras pretas e brancas daqueles homens desconhecidos seguem-me com os olhos; quando me viro para olhar para um quadro, viram-se também. As suas
mãos como que esvoaçam em direcção aos laços que usam no pescoço. Tocam nos coletes, nos lenços de assoar. São muito jovens. Estão desejosos de causar boa impressão.
Sinto nascer em mim milhares de capacidades. Sou maliciosa, alegre, lânguida, melancólica. Apesar de estar como que enraizada, sinto-me flutuar. Com um aspecto completamente
dourado, flutuo naquela direcção e digo a este indivíduo: “Vem”. Ao me encolher, digo “Não” àquele outro. Há um que se afasta do grupo que se encontra debaixo do
camarim de vidro. Aproxima-se. Vem na minha direcção. Trata-se do momento mais excitante que alguma vez vivi. Flutuo. Ondulo. Estendo-me como uma planta aquática,
ora nesta ora naquela direcção, mas sempre presa a um ponto fixo, pois só assim ele poderá vir ao meu encontro. “Vem”, digo, “vem”. Pálido, de cabelo escuro, aquele
que se aproxima é melancólico, romântico. E eu mostro-me maliciosa, volúvel e caprichosa, precisamente porque ele é melancólico e romântico. Cá está ele, mesmo ao
meu lado.
Agora, com um ligeiro puxão, mais ou menos como uma lasca que é arrancada a uma pedra, sou arrastada: caio junto com ele; sou levada para longe. Deixamo-nos
levar por esta doce corrente. Saímos e entramos ao som desta música hesitante. As pedras impedem agora o deslize da corrente da dança; esta agita-se, estremece.
Acabamos por ser compelidos a nos juntar a esta enorme figura. Ela mantém-nos juntos; não nos conseguimos escapar das suas paredes sinuosas, hesitantes, abruptas.
Os nossos corpos, forte o dele, leve o meu, são forçados a se manter dentro deste corpo. Depois, como que para nos dar a ilusão de espaço, toma-nos nas suas dobras
sinuosas e embala-nos de um lado para o outro. De súbito, a música pára. Apesar disso, o meu sangue não pára de correr. A sala gira em meu redor.
Acaba por parar.
Anda, vamos passear por entre as cadeiras douradas. O corpo é mais forte do que aquilo que pensava. Estou mais tonta do que o que era suposto estar. Ninguém
mais me interessa a não ser este homem, cujo nome desconheço. Lua, achas que somos aceitáveis? Não seremos nós encantadores, eu de cetim ele de preto e branco? Os
meus iguais bem me podem agora olhar. Encaro-vos bem de frente, homens e mulheres. Pertenço ao vosso mundo. O vosso mundo é o meu. Pego agora neste cálice esguio
e bebo um gole do seu conteúdo. O vinho tem um sabor drástico, ácido. Sou obrigada a estremecer enquanto bebo. Aromas e flores, luz e calor, tudo aqui se concentra
num líquido amarelo, fogoso. Mesmo por trás das minhas costas, qualquer coisa seca e de olhos muito grandes, fecha-se sobre si mesma, embalando-se suavemente até
adormecer.
Chama-se a isto êxtase, alívio. A alavanca que me impedia de falar abranda a pressão que exercia. As palavras agrupam-se e acabam por jorrar, umas a seguir
às outras. A ordem é perfeitamente arbitrária. É como se saltassem para os ombros umas das outras. Os seres sós e solitários tropeçam e transformam-se em muitos.
Não interessa o que digo. Semelhante a uma nave a esvoaçar, uma frase atravessa o espaço vazio que se estende entre nós. Acaba por poisar nos lábios dele. Volto
a encher o copo. Bebo. Desce um véu entre nós. Encontro espaço no calor e na privacidade de uma outra alma. Encontramo-nos ambos num ponto muito alto, num qualquer
desfiladeiro a pino. Melancólico, ele deixa-se ficar no ponto mais elevado do trilho. Inclino-me. Pego numa flor azul e, em bicos dos pés para o poder alcançar,
prendo-lha no casaco. Pronto! Trata-se do meu momento de êxtase. E agora já passou.
Invadem-nos a preguiça e a indiferença. As pessoas continuam a passar. Perdemos consciência dos nossos corpos unidos, ocultos por sob a mesa. Também gosto
de homens louros, de olhos azuis. A porta abre-se. A porta não pára de se abrir. Digo para mim mesma que, da próxima vez que ela se abrir, o curso da minha vida
mudará. Quem é que acaba de entrar? Oh, trata-se apenas de um criado carregado de copos. Aquele é já um senhor de idade – junto a ele não passaria de uma criança.
Aquela é uma grande dama – a seu lado teria de fingir.
Vejo algumas raparigas da minha idade, em relação às quais sinto um antagonismo respeitável. Estou entre os meus. Pertenço a este mundo. É neste facto que
reside o meu risco, a minha aventura. A porta abre-se. Oh, vem, digo eu a este, emitindo sinais dourados com todo o corpo. “Vem”, e ele aproxima-se de mim.
– Mover-me-ei por trás deles – disse Rhoda –, como se tivesse visto alguém conhecido. Contudo, não conheço ninguém. Afastarei a cortina para ver melhor a Lua.
O esquecimento acalmará a agitação em que me debato. A porta abre-se; o tigre salta. A porta abre-se; o terror esgueira-se por entre ela; terror e mais terror, perseguindo-me.
Melhor será visitar às escondidas os tesouros que separei. No outro lado do mundo, há colunas reflectidas em lagos. As andorinhas mergulham as asas nos lagos escuros.
Contudo, a porta não pára de se abrir e as pessoas vão entrando; avançam todas na minha direcção. Com sorrisos falsos, destinados a disfarçar a crueldade, a indiferença,
apoderam-se de mim. A andorinha molha as asas; a Lua passeia solitária através de oceanos azuis. Sou obrigada a lhes apertar a mão; sou obrigada a responder. Mas
que resposta deverei dar? Sou obrigada a usar este corpo desajeitado, sem graça, e a aceitar as suas manifestações de desprezo, de indiferença, eu, que sonho com
colunas de mármore e lagos situados no outro lado do mundo, onde as andorinhas molham as asas.
A noite escureceu um pouco mais os contornos das chaminés. Do lado de fora, por sobre o ombro do meu companheiro, vejo um gato, ligeiro, à vontade, sem estar
inundado em luz, sem estar preso em seda, livre para parar, para se espreguiçar, para voltar a andar. Odeio todos os pormenores da vida individual. Contudo, sou
obrigada a escutá-los. Sinto em mim uma enorme pressão. Não me posso mover sem deslocar o peso de séculos. Sinto-me espicaçada por um milhão de setas. O desprezo
e o sentido do ridículo não param de me dar alfinetadas. Eu, que seria capaz de enfrentar o granizo, e, com toda a alegria, deixar o granizo sufocar-me, estou como
presa neste local; sinto-me exposta. O tigre salta. As línguas, semelhantes a chicotes, não param de me atingir. Ágeis, incessantes, não param de me bater. Tenho
de fingir e mantê-los à distância com mentiras. Qual será o amuleto capaz de me proteger deste desastre? Que rosto poderei invocar para apagar este incêndio. Penso
nos rótulos das caixas; em mães de cujos joelhos largos as saias se espalham; em clareiras onde desembocam os caminhos íngremes das montanhas. Escondam-me, grito,
pois sou a mais nova, a mais desprotegida de todos vós. A Jinny sente-se tão à vontade como uma gaivota cavalgando as ondas, distribuindo olhares à esquerda e à
direita, dizendo isto e aquilo, mas sempre com convicção. Enquanto isso, eu vejo-me obrigada a mentir.
Quando estou só, balanço as minhas taças; sou dona e senhora da minha frota de navios. Porém, aqui, a virar as pregas das cortinas de brocado da minha anfitriã,
sinto-me repartida em mil pedaços; deixei de ser una. De que será então feita a sabedoria que a Jinny demonstra ao dançar; a certeza revelada pela Susan quando,
inclinando-se suavemente junto ao candeeiro, enfia a linha de algodão branco através do buraco da agulha? Elas dizem Sim; elas dizem Não; eles batem com os punhos
na mesa. Mas eu tenho dúvidas; estremeço; vejo a sombra do espinheiro selvagem projectar-se no deserto.
Tal como se tivesse um fim em vista, vou atravessar a sala até chegar à varanda por baixo do toldo. Vejo o céu, a que o luar confere uma aparência suave. Observo
igualmente os contornos da praça e os dois indivíduos sem rosto que se recortam como estátuas contra o firmamento. Trata-se, pois, de um mundo imune a mudanças.
Ao passar por esta sala repleta de línguas que me cortam como se fossem facas, fazendo-me gaguejar, levando-me a mentir, encontrei rostos sem feições, despojados
de beleza. Os casais de namorados ocultam-se por entre as árvores. O polícia está de sentinela a uma esquina. Um homem passa. Trata-se de um mundo imune a mudanças.
Todavia, ainda não me recompus o suficiente, apoiada em bicos de pés junto à lareira, afogueada devido ao ar quente, com medo que a porta se abra e o tigre salte,
com medo até de formar uma frase. Tudo o que digo está sujeito a ser permanentemente contrariado. Sou interrompida de cada vez que a porta se abre. Ainda não fiz
os vinte e um. Estou destinada a ser despedaçada. Estou destinada ao ridículo. Estou destinada a vogar ao sabor das línguas de todos estes homens e mulheres de rostos
contraídos, tal como se fosse um pedaço de cortiça a boiar num mar encapelado. Semelhante a uma alga, sou atirada para longe de cada vez que a porta se abre. Sou
a espuma que cobre de branco os contornos das rochas, até mesmo os mais recônditos; aqui, nesta sala, também sou uma rapariga. Depois de ter abandonado as almofadas
verdes onde se reclinava, espreitando furtivamente através das jóias marinhas, o Sol mostrou o rosto e olhou de frente para as ondas. Estas caíam a um ritmo regular.
Caíam provocando um som semelhante ao dos cascos dos cavalos na turfa. Os salpicos por si provocados elevavam-se como lanças empunhadas por sobre as cabeças dos
cavaleiros. Enchiam a praia com as suas águas de um azul metalizado, salpicadas de brilhos cor de diamante. Recuavam e avançavam com a força, a energia, de uma máquina
que não pára de trabalhar. O Sol incidia nos campos de milho e nos bosques. Os rios tornaram-se azuis e como que adquiriram muitas dobras, os relvados que se estendiam
até à beira-mar adquiriram uma coloração tão verde como a das penas das aves esvoaçando à brisa matinal. As encostas curvas e contraídas, davam a sensação de estarem
a ser puxadas por tenazes, mais ou menos como os músculos envolvem os membros; e os bosques, orgulhosamente eriçados nos seus flancos, lembravam as crinas dos cavalos
quando são cortadas rente.
No jardim, onde as árvores se erguiam frondosas por cima dos canteiros, dos charcos e das estufas, os pássaros cantavam ao sol, cada um por si mesmo e não
em coro. Um cantava por baixo da janela do quarto; outro, no ramo mais alto do lilás; outro ainda, empoleirado no muro. Todos cantavam de forma estridente com paixão,
com veemência, como se para deixarem o canto explodir, em nada se importando com o facto de arruinarem as melodias das outras aves. Os seus olhos redondos brilhavam
de excitação; as patas agarravam-se com força aos ramos e aos parapeitos. Cantavam, expostas e sem qualquer tipo de abrigo, ao ar e ao sol, belíssimas na sua nova
plumagem, estriada ou sarapintada como as conchas, aqui manchada de azul claro, ali salpicada de dourado, aqui e ali com uma simples pena a destoar do conjunto.
Cantavam como se a própria manhã as levasse a isso. Cantavam como se os contornos afiados da existência as obrigassem a quebrar a doçura da luz azul esverdeada;
a umidade da terra empapada lança emanações e exalações provenientes dos vapores oleosos da cozinha; o odor quente da carne de carneiro e de vaca; a riqueza dos
doces e das frutas; os restos moles e as cascas provenientes do caixote do lixo, sobre as quais pesava uma espécie de vapor pesado e lento. Era sobre todas estas
coisas encharcadas, manchadas e encarquilhadas devido à umidade, que as aves se lançavam, abruptas, impiedosas, de bico aberto. De repente, sem que nada o fizesse
prever, como que se atiravam dos lilases e das vedações. Observavam os caracóis somente para depois lhes partirem a casca de encontro a uma pedra. Batiam com fúria,
metodicamente, até a casca se partir e qualquer coisa de viscoso jorrar da fenda. Batiam de novo as asas e elevavam-se nos ares, emitindo notas curtas e agudas,
até acabarem por se empoleirar nos ramos superiores de uma qualquer árvore, de onde se deixavam ficar a observar as folhas e as espirais que se encontravam mais
abaixo, bem assim como o solo coberto de botões brancos, ervas que flutuavam ao vento, e o mar, batendo contra a praia, com um ritmo semelhante ao de um tambor,
que faz avançar um regimento de soldados envergando turbantes enfeitados de plumas. De vez em quando, as suas vozes uniam-se em escalas melodiosas, tal como acontece
com os vários cursos de água que percorrem as montanhas e que, ao se unirem, provocam uma corrente de espuma antes de se precipitarem cada vez mais depressa ao longo
do mesmo canal, arrastando consigo todas as folhas que encontram. No entanto, acabam por bater contra uma pedra; dividem-se.
Dentro de casa, o sol penetrava em colunas de contornos bem delineados. Tudo aquilo em que a luz tocava adquiria uma existência fanática. Os pratos transformavam-se
em lagos brancos. As facas aparentavam ser punhais de gelo. Sem que nada o fizesse prever, os copos pareciam estar suspensos em raios de luz. Cadeiras e mesas subiam
à superfície como se tivessem estado debaixo de água, e, ao se elevarem, era como se estivessem envoltas num véu de cores, vermelho, laranja, púrpura, mais ou menos
como a casca de um fruto maduro. Os veios que sulcavam as louças, os poros da madeira, as fibras dos tapetes, tudo se tornava mais nítido e como que melhor gravado
nos objectos a que pertenciam.
Coisa alguma possuía sombra. Uma determinada jarra era de tal forma verde, que os olhos que a fitavam eram como que sugados através de um canal devido à sua
intensidade, ficando a ela agarrados como lapas às rochas. Só então as formas indistintas ganhavam consistência. Via-se aqui o bojo de uma cadeira; ali, o volume
de um armário. E, à medida que a luz aumentava, arrastava à sua frente os bandos de sombras que antes ali haviam reinado, agrupando-os e suspendendo-os no pano de
fundo que suportava toda a cena.
– Que pálida, que estranha – disse Bernard – é a cidade de Londres com todas as suas torres e cúpulas, repousando sob o nevoeiro. Guardada por gasômetros e
chaminés de fábricas, a nossa aproximação não lhe perturba o sono. Ela aperta o formigueiro contra o peito. Todos os gritos e clamores estão suavemente envolvidos
em silêncio. Nem a própria Roma tem um ar mais majestoso. Mesmo assim, é para lá que nos dirigimos. A sua sonolência maternal começa já a dar mostras de não ser
muito natural. Por entre o nevoeiro elevam-se colinas cobertas de casas. Fábricas, catedrais, cúpulas de vidro, instituições e teatros, tudo isto surge perante os
nossos olhos. O primeiro comboio da manhã, vindo do Norte, dirigiu-se na sua direcção como se fosse um míssil. Afastamos a cortina para observar a paisagem. Rostos
vazios e expectantes olham-nos quando passamos pelas estações a grande velocidade. Como se antevissem a morte ao sentirem a deslocação de ar por nós provocada, os
homens agarram-se aos jornais com um pouco mais de força. Estamos prestes a explodir nos flancos da cidade, do mesmo modo que uma granada o faz junto ao corpo de
um animal majestoso, maternal. A cidade zumbe e sussurra; está à nossa espera.
Entretanto, à medida que vou espreitando pela janela do comboio, deixo-me invadir por uma sensação estranha, persuasiva, de que, e devido à minha grande felicidade
(estou noivo e vou-me casar), me tornarei parte desta velocidade, deste míssil disparado contra a cidade. A tolerância e a submissão deixam-me paralisado. Poderia
até dizer coisas como: “Meu caro senhor, por que se inquieta, por que razão pega na pasta e comprime contra ela o boné que usou durante toda a noite?”. Nada do que
fazemos tem utilidade. Paira sobre nós uma unanimidade esplêndida. O facto de termos todos o mesmo desejo – chegar à estação – transforma-nos numa massa uniforme
semelhante às asas cinzentas de um enorme ganso (ao fim e ao cabo, e apesar de a manhã ser bonita, o certo é que não tem qualquer cor). Não quero que o comboio pare
com um solavanco. Não quero quebrar a corrente que nos fez estar toda a noite sentados em frente uns dos outros. Não quero sentir que o ódio e a rivalidade voltaram
a reinar. A nossa comunidade, um grupo de indivíduos sentados num comboio apressado e com um único desejo em mente, chegar a Euston, era bastante simpática. Mas
atenção! Acabou-se. Conseguimos o que desejávamos. Chegamos à plataforma. Gera-se a pressa e a confusão quando todos se precipitam rumo ao portão, na tentativa de
serem os primeiros a chegar ao elevador. Contudo, não quero ser o primeiro a assumir o fardo de possuir uma vida individual. Eu, desde segunda-feira (o dia em que
ela me aceitou), via-me confrontado com um profundo sentimento de identidade, de tal forma que não podia ver a escova de dentes no copo sem dizer “A minha escova
de dentes”, não desejo agora outra coisa senão abrir as mãos e deixar cair todos os meus haveres, limitar-me a ficar na rua sem participar, a observar os autocarros,
sem sentir quaisquer desejos; sem invejas; apenas com aquilo a que se poderia chamar uma curiosidade ilimitada a respeito do destino humano, e isto se a minha mente
ainda tivesse limites. Contudo, já nada possui. Cheguei; fui aceite. Nada peço em troca. Depois de me ter satisfeito como uma qualquer criança que acabou de mamar,
estou agora livre para me afundar nas profundezas de tudo o que passa, nesta vida omnipresente e geral. (Só agora me apercebo do papel importante desempenhado pelas
calças; de nada serve possuir uma cabeça inteligente se as calças estiverem coçadas.) É possível observar-se algumas hesitações curiosas à porta do elevador. Por
este lado e por aquele, pelo outro? É então que a individualidade se impõe. Acabam todos por partir. São impelidos por uma qualquer necessidade. Um qualquer assunto
insignificante, por exemplo, chegar a horas a um encontro, comprar um chapéu, separar estes belíssimos seres humanos até então fortemente unidos.
Pela parte que me toca, não tenho objectivos. Não tenho ambições. Deixar-me-ei levar pelos impulsos gerais. A superfície da minha mente desliza como um fio
de água cinzento-claro que reflecte tudo por onde passa. Não me consigo lembrar do meu passado, do meu nariz, nem sequer da cor dos meus olhos, já para não falarmos
da opinião geral que formo a meu respeito. Apenas em situações de emergência, num cruzamento, numa berma, me vejo frente a frente com o desejo de preservar o meu
corpo, o qual me agarra e me obriga a parar aqui, frente ao autocarro. Parece que nos recusamos a deixar de viver. Depois, a indiferença volta a descer sobre nós.
O rugir do trânsito, a passagem de tantos rostos impossíveis de diferenciar, este ou aquele caminho, tudo me intoxica e me faz sonhar; tudo apaga as feições das
faces dos que comigo se cruzam. As pessoas quase me podiam atravessar. Para mais, qual o significado deste instante, deste dia específico em que me vi envolvido?
Os ruídos do tráfego podem ser comparados a outros sons – o das árvores a restolhar e o rugir dos animais selvagens. O tempo como que fez recuar um pouco a sua progressão;
o nosso avanço parece ter sido cancelado. Para falar com franqueza, acho que os nossos corpos estão nus. Estamos apenas revestidos por um tecido com botões; e por
baixo destes passeios existem conchas, ossos e silêncio.
E claro que, tal como acontece durante o sono, as minhas tentativas para ir além da superfície do rio, os meus sonhos, são interrompidos, puxados, distorcidos
por sensações, espontâneas e irrelevantes, de curiosidade, ganância e desejo. (Cobiço aquela mala, etc...) Não, mas desejo ir mais fundo; visitar as profundezas;
de vez em quando dar-me ao luxo de nem sempre agir, mas também de explorar; de escutar sons vagos e ancestrais de ramos a partir, de mamutes; de me deixar levar
pela fantasia impossível de abraçar o mundo inteiro com os braços do conhecimento – algo francamente impossível para aqueles que agem. Não estarei eu, à medida que
avanço, a ser percorrido por estranhos tremores e vibrações de simpatia, que, a nada terem a ver com um ser individual, me pedem para abraçar a multidão, estes mirones
e excursionistas baratos, estas raparigas furtivas e escorregadias que, ignorando a sombra negra que sobre elas paira, olham as montras das lojas? Porém, estou consciente
da nossa existência efêmera.
Todavia, é verdade que não posso deixar de negar a sensação de que a vida me foi misteriosamente prolongada. Será que poderei ter filhos, lançar sementes que
consigam sobreviver a esta geração, a estes indivíduos eternamente condenados, arrastando-se mutuamente pelas ruas numa competição incessante? As minhas filhas virão
passear aqui em verões que ainda não chegaram; os meus filhos desbravarão outros campos. É por isso que não somos gotas de chuva, de pronto secas pelo vento; fazemos
florescer os jardins e rugir as florestas; não cessamos de tomar formas diferentes, isto para todo o sempre.
São estas coisas que explicam a minha confiança, a estabilidade central (o que de outra forma seria monstruosamente absurdo) que demonstro ao enfrentar esta
multidão, abrindo sempre caminho por entre os corpos das pessoas, aproveitando os momentos seguros para atravessar. Não se trata de vaidade; o certo é que estou
despido de ambições; não me lembro dos meus dons ou idiossincrasias especiais, bem assim como das marcas características da minha pessoa: olhos, nariz ou boca. Pelo
menos neste momento, despojei-me de mim.
Mas atenção, sinto-o voltar. É impossível extinguir este cheiro persistente. Trata-se de algo que se infiltra na mais pequena fenda existente na estrutura
– a nossa identidade. Não pertenço à rua – não, observo-a. É assim que os indivíduos se isolam. Por exemplo, no cimo daquela rua secundária há uma rapariga à espera;
de quem? Uma história romântica. Na parede daquela loja vê-se uma pequena grua. É então que me pergunto qual o motivo que poderia ter levado aquele objecto a ser
ali colocado, e de pronto imagino a história de uma dama vestida de vermelho, inchada, gordíssima, sendo puxada de cabriolé por um marido alagado em suor, alguém
na casa dos sessenta. Trata-se de uma história grotesca. Claro que sou um falsário de palavras, alguém que usa tudo e mais alguma coisa para soprar bolas de sabão.
E, é à custa destas observações espontâneas que me vou elaborando, diferenciando, e, ao escutar a voz que murmura à minha passagem: “Olha! Toma nota disto!”, imagino-me
destinado a conceber, numa qualquer noite de Inverno, um significado para as minhas observações – uma série de linhas que se completam e que sumarizam tudo o que
vejo. No entanto, os solilóquios nas ruas secundárias não tardam a perder o interesse. Preciso de uma audiência. É precisamente aí que reside a minha desgraça. É
sempre isso que corta as arestas da frase fina, impedindo a sua formação. Não me consigo imaginar numa qualquer casa-de-pasto de aspecto sórdido, a pedir a mesma
bebida dia após dia, e a me deixar embebedar completamente num só líquido – esta vida. Construo uma frase e fujo com ela para uma qualquer sala bem mobiliada, onde
a luz de dezenas de velas a poderão iluminar. Sinto necessidade de olhos para poder empregar os meus floreados. Concluo que, para ser eu mesmo, necessito da luz
dos olhos de terceiros, e por isso não posso estar completamente seguro daquilo que sou. Os seres autênticos, por exemplo, o Louis e a Rhoda, só se revelam de forma
completa na maior das escuridões. Ressentem-se da luz, das cópias. Destroem os quadros anteriormente traçados a seu respeito, atirando-os contra o solo. As palavras
do Louis lembram blocos de gelo. São sólidas, compactas, douradas. Então, e depois desta sonolência, desejo brilhar, brilhar à luz que emana dos rostos dos meus
amigos. Tenho estado a atravessar o território sombrio da não identidade. Trata-se de uma terra estranha. Num momento de calma, num momento de satisfação avassaladora,
escutei os suspiros da corrente que flui e reflui para lá deste círculo de luz brilhante, deste tamborilar de fúria insensata. Por breves instantes, fui possuído
por uma enorme calma. Talvez a isto se chame felicidade. Uma série de sensações irritantes fazem-me voltar a mim; curiosidade, avidez (tenho fome), e o desejo irresistível
de ser eu mesmo. Penso nas pessoas a quem tenho coisas para dizer: o Louis, o Neville, a Susan, a Jinny e a Rhoda. Junto delas sou multifacetado. São elas que me
tiram das trevas. Graças a Deus, vamo-nos encontrar esta noite. Graças a Deus, não precisarei mais de ficar só. Vamos jantar juntos. Vamo-nos despedir do Percival,
que vai para a Índia. Apesar de a hora ainda vir longe, sinto as sombras dos amigos ausentes. Vejo o Louis, esculpido em granito, semelhante a uma estátua; o Neville,
exacto, cortante como uma tesoura; a Susan, com aqueles olhos semelhantes a pedaços de cristal; a Jinny, a dançar como uma chama, febril, quente, por sobre a terra
seca; e a Rhoda, a ninfa da fonte sempre úmida. Tratam-se de imagens fantásticas – estas visões dos amigos ausentes são irreais, grotescas, desaparecem ao primeiro
toque de uma bota verdadeira. Apesar disso, são elas que me mantêm vivo. São elas que afastam estes vapores. A solidão começa a me impacientar – sinto que todos
estes véus que me cercam se começam a soltar. Oh, como seria bom pô-los de parte e entrar em acção! Qualquer pessoa serviria. Não sou esquisito. O varredor das ruas
serviria; o carteiro; o empregado do restaurante francês; melhor ainda, o seu genial proprietário, cujo talento parece estar reservado para uma determinada pessoa.
É ele que prepara a salada com as suas próprias mãos para um certo convidado especial. Mas quem será este convidado especial, e porquê? E que estará ele a dizer
àquela senhora de brincos? Será ela uma amiga ou apenas uma cliente? Assim que me sento à mesa sinto-me invadido por todo um sentimento de confusão, de incerteza,
de especulação. As imagens não param de se formar. A minha fertilidade embaraça-me. Se assim o desejasse, poderia descrever todas as cadeiras, mesas e comensais
que aqui se encontram. Na minha mente não param de surgir palavras que se adaptam a tudo. O simples acto de falar ao criado a respeito do vinho é já provocar uma
explosão. O foguete não pára de subir. Os grãos dourados que dele se desprendem caem um a um no solo da minha imaginação, fertilizando. A natureza totalmente inesperada
da explosão – é aí que reside a maravilha do facto. Eu, misturado com um empregado italiano desconhecido – que sou eu? Não existe estabilidade neste mundo. Existirá
alguém capaz de descobrir o significado de todas as coisas? Quem será capaz de prever o voo de uma palavra? Trata-se de um balão que voa por sobre as copas das árvores.
É inútil falar sobre conhecimento. Nada mais existe para além de experiências e aventuras. Estamos permanentemente a misturarmo-nos com quantidades desconhecidas.
O que virá a seguir? Não sei. Mas, à medida que vou poisando o copo, lembro-me. Estou noivo e vou-me casar. Esta noite vou jantar com os amigos. Sou Bernard, eu
mesmo.
– Faltam cinco minutos para as oito – disse Neville. – Cheguei cedo. Ocupei o meu lugar à mesa dez minutos antes da hora prevista, pois só assim poderia saborear
todos os momentos de antecipação; ver a porta a abrir e dizer: Será o Percival? Não, não é o Percival. Sinto um prazer mórbido ao dizer: Não é o Percival. A porta
já se abriu e fechou cerca de vinte vezes, e a expectativa é cada vez maior. Estou no local onde ele acabará por chegar. Esta é a mesa onde se sentará. Aqui, e por
muito incrível que possa parecer, estará o seu corpo. Esta mesa, estas cadeiras, esta jarra de metal contendo três flores vermelhas, tudo isto está prestes a sofrer
uma transformação extraordinária. A própria sala, com as suas portas de vaivém, as mesas repletas de fruta e carnes frias, apresenta uma aparência irreal, desfocada,
própria de um local onde se espera vir a acontecer algo. As coisas estremecem como se ainda estivessem longe de possuir as características do ser. A brancura da
toalha como que resplandece. A hostilidade e a indiferença das outras pessoas que aqui jantam é opressiva. Entreolhamo-nos; vemos que não nos conhecemos e viramos
as costas. Tratam-se de olhares semelhantes a chicotadas. Sinto neles toda a crueldade e indiferença do mundo. Se ele não vier, serei incapaz de as suportar. Contudo,
e neste preciso momento, alguém o deve estar a ver. É provável que esteja dentro de um táxi; a passar por alguma loja. E a todo o instante ele parece fazer com que
a sala se encha de luz, desta intensidade do ser, obrigando as coisas a perder os seus usos normais – a lâmina desta faca transforma-se num raio de luz e deixa de
ser um objecto cortante. É a abolição do normal.
A porta abre-se, mas ainda não é ele. Trata-se do Louis, algo hesitante. Esta hesitação é uma estranha mistura de segurança e timidez. Ao entrar, olha de relance
para o espelho; passa a mão pelo cabelo; não está satisfeito com a sua aparência. Diz: “Sou um duque” – o último de uma raça antiga. É um ser amargo, desconfiado,
dominador, difícil (estou a compará-lo ao Percival). Ao mesmo tempo, e dado existir uma estranha alegria nos seus olhos, é um ser formidável. Acaba por me ver. Aí
vem ele.
– Ali está a Susan – disse Louis. – Ainda não nos viu.
Não está vestida para a ocasião, pois despreza a futilidade de Londres. Deixa-se estar à porta por alguns instantes, ofuscada pela luz de um candeeiro. Acaba
por se mover. Ao andar por entre as mesas e cadeiras, revela possuir os movimentos furtivos, se bem que seguros, de um animal selvagem. Parece possuir a capacidade
instintiva de abrir caminho por entre estas pequenas mesas sem tocar em nada nem em ninguém, sem prestar sequer atenção aos empregados, até chegar junto à nossa
mesa. Quando nos vê (a mim e a Neville) o seu rosto assume uma expressão de certeza alarmante, como se tivesse conseguido o que queria. Ser amado por ela seria o
mesmo que ser crucificado pelo bico afiado de uma ave, de ser pregado à porta do celeiro, e isto de uma vez por todas.
É agora a vez da Rhoda, que surge como que vinda de parte alguma, depois de ter entrado quando não estávamos a olhar. Por certo que seguiu uma rota tortuosa,
escondendo-se ora atrás de um criado ora atrás de um pilar, como se tivesse vontade de adiar o mais possível o momento do reconhecimento, como se quisesse certificar-se
de que poderia balançar a taça onde se encontram as suas pétalas por mais um momento.
Fazemo-la despertar. Torturamo-la. Teme-nos, despreza-nos, mas mesmo assim vem-se juntar a nós, pois, e apesar de toda a nossa crueldade, existe sempre um
nome, um rosto, que lança um brilho, que lhe ilumina o caminho e lhe dá a hipótese de voltar a sonhar.
– A porta abre-se, a porta não pára de se abrir – disse Neville –, mas ele continua a não aparecer.
– Lá está a Jinny – disse Susan. – Está mesmo junto à porta. Tudo parece ter parado. Os criados imobilizam-se. Os clientes que se encontram nas mesas junto
à porta olham. Dá a sensação de que concentra tudo. Em seu redor, mesas, portas, janelas, tectos, tudo se parece agrupar como que em raios concêntricos, semelhantes
aos que se formam em torno de uma estrela vista através de um vidro partido. É como se tivesse capacidade para pôr tudo em ordem. Acaba por nos ver e põe-se em movimento.
É então que os raios começam a flutuar na nossa direcção, trazendo-nos novas correntes de sensações. Mudamos. O Louis leva a mão à gravata. O Neville, que
revela sinais de quem sofre uma profunda agonia, endireita os talheres que estão à sua frente, isto não sem algum nervosismo. A Rhoda olha-a, surpreendida, como
se visse um incêndio alastrar num campo distante. E eu, muito embora tente pensar em erva e campos úmidos, no som da chuva a bater no telhado e nas rajadas de vento
que abanam a casa no Inverno, tentando assim proteger a alma contra ela, sinto-me cercada pela energia que dela se desprende, sinto as suas gargalhadas enrolarem-se
à minha volta com línguas de fogo a queimarem-me sem dó nem piedade o vestido gasto, as unhas cortadas rente, de tal forma que me vejo obrigada a escondê-las debaixo
da toalha.
– Ele não vem – disse Neville. – A porta não pára de se abrir e ele não chega. Quem lá vem é o Bernard. Como seria de esperar, ao tirar o casaco levanta os
braços de tal maneira, que qualquer um lhe pode ver os sovacos. E, ao contrário do que se passou com todos nós, vai andando sem precisar de abrir porta alguma, sem
sequer se aperceber de que entrou numa sala repleta de desconhecidos. Não olha para o espelho. Está despenteado, mas nem sequer se apercebe do facto. Não vê que
somos diferentes nem que é para esta mesa que se deve dirigir. Hesita durante breves instantes. Quem será aquela?, pergunta ele em voz baixa, pensando reconhecer
uma mulher embrulhada numa capa, daquelas com que se costuma ir à ópera. O certo é que ele pensa sempre que conhece toda a gente, quando a verdade é que conhece
ninguém (estou a compará-lo ao Percival). Contudo, ao nos reconhecer, esboça um aceno benevolente; inclina-se com tanta bondade, com tanto amor pela humanidade (ao
que se mistura um pouco de troça pela futilidade de amar a humanidade), que, se não fosse o Percival que transforma tudo isto em vapor, seria capaz de me juntar
aos outros e achar, tal como eles o fazem, que esta festa é nossa, que finalmente estamos todos juntos. Todavia, sem o Percival as coisas carecem de solidez. Somos
silhuetas, fantasmas ocos a pairar sem qualquer pano de fundo que nos sirva de suporte.
– A porta de vaivém não pára de se abrir – disse Rhoda.
Por ela vão entrando estranhos, indivíduos que nunca mais veremos, indivíduos que nos tocam de forma desagradável com a sua familiaridade e indiferença, bem
assim como com a ideia de que o mundo vai continuar mesmo sem a nossa presença. Somos incapazes de nos afundar, de esquecer os rostos que possuímos. Mesmo eu, que
nunca mudo de expressão (a Susan e a Jinny alteraram os rostos e os corpos quando entraram), sinto-me flutuar, sem possuir um porto onde ancorar, incompleta, incapaz
de construir uma câmara de vácuo, um muro, onde possa colocar estes corpos em movimento. Creio que tudo isto se deve ao Neville e à tristeza que dele emana.
Sinto-me abalada pela profunda desolação em que está mergulhado. Nada pode assentar. Nada pode ser fixado. De cada vez que a porta se abre ele olha fixamente
para a mesa, nem sequer se atreve a levantar os olhos, acaba por espreitar durante breves segundos, e diz: “Ele não vem!”. Porém, ei-lo que chega.
– Agora – disse Neville –, a minha árvore floresce. O meu coração eleva-se. Acabaram-se as opressões e os impedimentos. O reino do caos chegou ao fim. Foi
ele quem impôs a ordem. As facas voltaram a cortar.
– Lá está o Percival – disse Jinny. – Não se vestiu para a ocasião.
– Lá está o Percival – disse Bernard –, a ajeitar o cabelo.
Não se trata de um gesto de vaidade (nem sequer olha para o espelho), mas sim de algo para agradar ao deus da decência. É um indivíduo convencional; é um herói.
Os rapazinhos mais novos marchavam atrás dele no campo de jogos. Mas, e apesar de assoarem o nariz do mesmo modo que ele, não tinham qualquer sucesso, pois só ele
é o Percival. Agora, que está prestes a nos deixar, a partir para a Índia, todas estas pequenas coisas se juntam numa só. Estamos em presença de um herói. Oh, sim,
ninguém o pode negar, e, quando se senta junto à Susan (a quem ama profundamente) a ocasião torna-se perfeita. Nós, que antes nos entretínhamos a lutar uns contra
os outros, assumimos agora o ar sóbrio e confiante de soldados na presença do capitão. Nós, a quem a juventude separou (o mais velho ainda não fez vinte e cinco
anos), que, semelhantes a aves sedentas, cantamos a plenos pulmões, e, com o egoísmo próprio dos jovens, batemos na nossa própria carapaça com tanta força que quase
a chegamos a partir (estou noivo), ou, empoleirados no parapeito de uma qualquer janela solitária entoamos cânticos de amor e fama, coisa tão querida às avezinhas
jovens de penugem amarela, acabamos por nos aproximar; e, em cima dos poleiros que ocupamos neste restaurante onde cada um tem os seus interesses e somos distraídos
pelo desfile incessante dos copos e tentados por toda a espécie de coisas de cada vez que a porta se abre, é aqui sentados que sentimos o quanto nos amamos, acreditando
também que somos consistentes e possuímos capacidade para resistir ao tempo.
– Resta-nos agora sair da obscuridade da solidão – disse Louis.
– Resta-nos agora dizer, de forma directa e brutal, o que nos vai na alma – disse Neville. – Longe está o período de isolamento e preparação; os dias furtivos
da clandestinidade e dos segredos, das revelações inesperadas, dos momentos de terror e êxtase.
– A velha Mrs. Constable levantava a esponja e sentíamos o calor escorrer-nos pela pele – disse Bernard. – Sentíamo-nos envolvidos por estas novas roupas feitas
de carne.
– O rapaz das botas fez amor com a criada, no jardim – disse Susan –, por entre os alguidares de roupa lavada.
– O modo como o vento respirava lembrava o arfar de um tigre – disse Rhoda.
– Havia um homem na valeta, lívido, com o pescoço cortado – disse Neville. – E, sempre que subia os degraus, não conseguia olhar para a madeira com as suas
folhas prateadas.
– Sem que houvesse ninguém para a soprar, a folha não parava de se agitar – disse Jinny.
– No canto iluminado pelo sol – disse Louis –, as pétalas nadavam em profundezas de verde.
– Em Elvedon, os jardineiros não paravam de varrer, servindo-se para isso das suas enormes vassouras, e a mulher sentada à mesa não parava de escrever – disse
Bernard.
– Agora, sempre que nos encontramos – disse Louis –, pegamos no novelo em que o passado se transformou e tentamos desenrolá-lo.
– Foi então – disse Bernard –, que o táxi surgiu frente à porta, e, enterrando com força os bonés para assim escondermos aquelas lágrimas muito pouco viris,
acabamos por ser conduzidos por ruas onde até mesmo as criadas nos olhavam, e os nossos nomes escritos a branco nas malas proclamavam a todo o mundo que íamos para
a escola, transportando connosco o número permitido de meias e cuecas, onde as nossas mães haviam bordado as nossas iniciais. Tratou-se de uma segunda separação
do corpo da mãe.
– E havia também a Miss Lambert, já para não falarmos da Miss Cutting e da Miss Bard – disse Jinny. – Tratava-se de senhoras imponentes, de golas brancas;
pálidas, enigmáticas, com anéis de ametista colocados em dedos muito esguios, os quais percorriam as páginas dos livros de francês, geografia e aritmética; e haviam
ainda os mapas, os quadros de baeta verde, e as filas de sapatos na prateleira.
– As campainhas tocavam sempre a horas – disse Susan. – As raparigas não paravam de rir e de se acotovelar. As cadeiras produziam um barulho estranho quando
as arrastavam no chão forrado a oleado. Contudo, num dos sótãos podia ver-se um ponto azul e distante correspondente a um campo não contaminado pela corrupção daquela
existência irreal, regulamentada.
– Os véus não paravam de cair por sobre as nossas cabeças – disse Rhoda. – Pegávamos nas flores e com elas construíamos grinaldas.
– Mudamos, tornámo-nos irreconhecíveis – disse Louis. – Expostos a todas estas luzes diferentes, aquilo que possuíamos dentro de nós (pois somos todos diferentes)
veio aos poucos à superfície, em golfadas violentas, separadas por abismos vazios, tal como se um qualquer ácido tivesse caído de forma desigual numa determinada
superfície. Eu fui isto, o Neville aquilo, o mesmo se passando com o Bernard e a Rhoda.
– Foi então que as canoas passaram através dos ramos levemente tingidos de amarelo – disse Neville –, e o Bernard, avançando de forma descontraída por entre
os tufos verdes, contra casas de alicerces antiquíssimos, acabou por se deixar cair junto a mim. Num acesso de emoção, os ventos e os relâmpagos não podem ser mais
rápidos, peguei no meu poema, atirei-lho, e fechei a porta atrás de mim.
– No entanto, e pela parte que me tocava – disse Louis –, deixando-vos partir, sentei-me no escritório, e, arrancando as páginas ao calendário, anunciei a
todos os que ali iam que sexta, dia dez, ou terça-feira, dezoito, haviam amanhecido na cidade de Londres.
– Então – disse Jinny –, eu e a Rhoda, vestidas com os nossos vestidos mais bonitos e com algumas pedras preciosas a ornamentar os colares gelados que trazíamos
ao pescoço, fizemos vénias, apertámos as mãos, e, sem nunca deixar de sorrir, tirámos uma ou outra sanduíche de uma enorme travessa.
– Do outro lado do mundo – disse Rhoda –, o tigre saltou e a andorinha mergulhou as asas nos lagos escuros.
– Mas agora estamos de novo juntos – disse Bernard. – Acabamos por nos juntar, nesta determinada altura, neste preciso local. O que nos faz aqui estar é uma
emoção profunda e por todos partilhada. Será conveniente chamarmos-lhe amor? Deveremos dizer que sentimos amor pelo Percival, já que ele vai para a Índia?
Não, trata-se de um nome demasiado pequeno e específico. Não devemos deixar que os nossos sentimentos fiquem confinados a limites tão estreitos. Estamos todos
juntos (uns vindos do Norte, outros do Sul, a Susan da sua quinta, o Louis do escritório onde trabalha) para realizarmos algo que, muito embora não seja duradouro
– e, afinal, que é que o é? –, é visto ao mesmo tempo por muitos olhos. Há um cravo vermelho naquele vaso. Enquanto estávamos à espera, tratava-se de uma simples
flor. Agora, transformou-se em algo com sete possíveis ângulos de observação, muitas pétalas vermelhas, rubras, algo como folhas possuidoras de estrias prateadas
– uma flor completa à qual cada olho dá a sua contribuição.
– Depois dos fogos caprichosos e da horrível monotonia da juventude – disse Neville –, a luz acaba por cair em objectos reais. Somos facas e garfos. O mundo
está arrumado, o mesmo se passando connosco, e só por isso podemos falar.
– As nossas diferenças talvez sejam demasiado profundas para serem explicadas – disse Louis. – Mas talvez não seja má ideia tentá-lo. Alisei o cabelo quando
entrei, pois tentava tornar-me o mais parecido convosco quanto possível. Contudo, e dado não ser tão inteiro quanto vocês, trata-se de algo completamente impossível.
Já vivi milhares de vidas. Desenterro uma todos os dias – escavo-a. Descubro relíquias de mim mesmo na areia que foi pisada pelas mulheres há milhares de anos, quando
ouvia cânticos no Nilo e o animal encurralado batia as patas com força. Aquilo que têm à vossa frente, este homem, este Louis, é apenas o que resta de algo que já
foi magnífico. Já fui um príncipe árabe – reparem na graciosidade dos meus gestos. Já fui um grande poeta no tempo da rainha Isabel. Fui duque na corte de Luís XIV.
Sou muito vaidoso, muito confiante; sinto uma enorme vontade de fazer com que as mulheres suspirem por mim. Hoje, não almocei para que a Susan me considere cadavérico
e a Jinny me conceda a bênção extravagante da sua simpatia. Mas, muito embora admire a Susan e o Percival, odeio todos os outros, pois é para eles que faço disparates
como alisar o cabelo e tentar ocultar o sotaque.
Sou o macaquinho que faz muito barulho quando encontra uma noz; vocês são as mulheres desleixadas que transportam malas lustrosas carregadas de bolos bafientos;
para mais, sou também o tigre enjaulado, e vocês são os guardas munidos de ferros em brasa. Ou seja, sou mais feroz e forte que vocês, e, contudo, aquilo que emerge
à superfície depois de muitos séculos de não identidade será passado no maior dos horrores, não vão vocês rir-se de mim; esforçando-me por construir um anel de poemas
comparável ao aço, o qual levará as gaivotas às mulheres de dentes estragados, as torres das igrejas aos bonés que vejo passar durante a hora do almoço, quando encosto
o meu poeta preferido, será Lucrécio?, contra o galheteiro e o suporte da conta.
– Vocês nunca serão capazes de me odiar – disse Jinny. – Nunca serão capazes de me ver, mesmo que seja numa sala repleta de cadeiras douradas e embaixadores,
sem de imediato atravessarem o aposento em busca da minha simpatia. Ainda agora, e assim que cheguei, tudo ficou em silêncio. Os criados pararam, os comensais levantaram
os garfos e assim os mantiveram. Eu tinha ar de estar preparada para qualquer eventualidade. Quando me sentei, vocês ou levaram as mãos às gravatas ou as esconderam
debaixo da mesa. Porém, eu nada tenho a esconder. Estou preparada. Sempre que a porta se abre grito Mais!. Contudo, são os corpos a minha imaginação. Nada mais consigo
conceber para lá do círculo de luz provocado pelo meu próprio corpo. Este como que me precede, semelhante a uma lanterna descendo um carreiro escuro, fazendo com
que todas as coisas, umas a seguir às outras, penetrem numa espécie de anel de luz. Faço-vos entontecer; levo-vos a acreditar que isto é tudo.
– Quando apareceste à porta – disse Neville –, fizeste com que tudo parasse, exigiste ser admirada, e isso constituiu um grande impedimento à forma livre como
as coisas se devem relacionar. Apareceste à porta e obrigaste-nos a reparar em ti. Contudo, nenhum de vós me viu aproximar. Cheguei cedo; vim depressa e rapidamente
para aqui, para assim me poder sentar junto à pessoa que amo. A minha vida possui a enorme rapidez que falta às vossas. Sou como um cão de caça a seguir um determinado
odor. Caço desde o nascer ao pôr do Sol. Nada, nem a busca da perfeição, a fama ou o dinheiro, tem significado para mim. Possuirei grandes riquezas; serei famoso.
No entanto, dado não possuir a agilidade corporal e a coragem que, por norma, costumam acompanhar as qualidades acima mencionadas, nunca conseguirei o que quero.
O meu corpo não tem estrutura para suportar a rapidez com que penso. Falho antes de alcançar o que procuro e deixo-me cair, transformado em qualquer coisa sem forma,
pegajosa, talvez mesmo revoltante. Sempre que passo por uma qualquer crise, inspiro piedade, e não amor. É por isso que sofro de forma horrível. Mesmo assim, e ao
contrário do Louis, não transformo o que sinto num espectáculo. Sou demasiado realista para me dar ao luxo de participar numa farsa deste tipo. Vejo tudo, excepto
uma coisa, com a maior das clarezas. É por isso que me salvo. É isso que transforma o meu sofrimento em qualquer coisa de excitante e incessante. É isso que me orienta,
mesmo quando nada digo. E, dado que, pelo menos até um certo ponto, não tenho contornos definidos (a pessoa que sou muda constantemente, se bem que o mesmo não se
passe no plano dos desejos), nunca começo o dia a saber de antemão com quem vou jantar. É isso que faz com que nunca estagne; que me erga mesmo depois dos piores
desastres. Volto-me; mudo. Os seixos ressaltam ao embater na couraça que me reveste os músculos, o corpo. E assim acabarei por envelhecer.
– Se ao menos conseguisse acreditar – disse Rhoda –, que serei capaz de envelhecer em busca de algo e em constante metamorfose, então libertar-me-ia do medo
que sinto: nada existe para sempre. Um determinado momento não conduz forçosamente a outro. A porta abre-se e o tigre salta. Vocês não me viram entrar. Fiz questão
de passar por entre as cadeiras para evitar o horror do salto. Tenho medo de todos vocês.
Tenho medo do choque provocado pelas sensações que sobre mim se abatem, pois não posso lidar com elas do mesmo modo que vocês – sou incapaz de fazer com que
um momento se funda noutro. Para mim, são todos violentos, separados; e, se me deixar derrubar pelo choque do salto efectuado pelo momento, vocês cair-me-ão em cima,
acabando por me despedaçar. Não tenho qualquer objectivo em vista. Não sei correr de minuto a minuto, de hora a hora, misturando-os através de uma qualquer força
natural até constituírem aquela massa indivisível a que vocês chamam vida. Dado terem um objectivo em vista, será sentarem-se junto a alguém, será uma ideia, será
uma beleza? (não sei), os vossos dias e as vossas horas passam com a doçura dos ramos das árvores que se vão baloiçando ao vento, e com a suavidade do verde das
florestas, por onde os cães de caça vão perseguindo um determinado odor. Contudo e no que me diz respeito, não há um único cheiro, um único ser a quem possa seguir.
Para mais, não possuo rosto. Sou como a espuma que passa a rasar pela areia, ou como um raio de luar, que ora cai nesta lata vazia ora neste fio de alga, ou ainda
num osso ou numa embarcação semicarcomida. Sou transportada para o interior das grutas e comprimida contra as paredes dos corredores como se fosse papel, e tenho
de pressionar a mão, libertar a parede com toda a força, pois só assim me puxarei de volta. Mas, e dado que aquilo que mais quero é encontrar um refúgio, finjo ter
um objectivo em vista, e lá vou subindo as escadas, atrás da Jinny e da Susan. Vejo-as puxar as meias e faço o mesmo às minhas. Deixo-vos falar primeiro e depois
imito-vos. Vim até aqui, a este preciso lugar, não para te ver, a ti, a ti, ou a ti, mas para atear a chama que em mim existe na fogueira de todos os que vivem como
um todo, de forma indivisível, sem uma preocupação.
– Esta noite, quando aqui cheguei – disse Susan –, parei e examinei tudo com os olhos colados ao chão, como se fosse um animal. O cheiro das carpetes, da mobília
e dos perfumes enjoa-me. Gosto de passear sozinha pelos campos úmidos, ou de parar junto ao portão e ver o meu setter farejar em círculo como que a perguntar: “Onde
é que está a lebre?”. Gosto de estar junto de quem anda sempre com uma erva nas mãos, cospe para o lume, e, de chinelos, tal como o meu pai, se vai arrastando ao
longo dos caminhos. As únicas coisas que compreendo são gritos de amor, ódio, raiva e dor. Toda esta conversa é como despir uma velha cujo vestido parecia fazer
parte dela, mas agora, à medida que falamos, a criatura vai revelando uma pele avermelhada, as ancas encarquilhadas, e os peitos descaídos. Voltam a ser belos assim
que se calam. Nunca possuirei outra coisa para além de felicidade natural. Bastará isso para me contentar. Irei cansada para a cama. Serei como um campo cujas colheitas
vão aumentando; no Verão, o sol aquecer-me-a; no Inverno, a geada fará com que fique queimada. Contudo, o frio e o calor seguir-se-ão de forma natural, sem que eu
tenha qualquer coisa a ver com o facto. Os filhos dar-me-ão continuidade; as suas dores de dentes, os seus choros, as suas idas e vindas da escola serão como as
ondas do mar que se estende a meus pés. O seu movimento perpetuar-se-á para todo o sempre. As estações do ano farão com que me eleve mais de qualquer um de vós.
Quando morrer, possuirei muito mais do que a Jinny ou a Rhoda. Por outro lado, onde vocês são múltiplos e se unem às ideias e às gargalhadas dos outros, serei solene,
sombria, sem apresentar diferenças de coloração. A paixão da maternidade, bela e animal, acabará por me desgastar. Farei tudo, até mesmo as maiores baixezas, para
melhor orientar a sorte dos meus filhos. Odiarei todos os que descobrirem as suas falhas. Deixarei que construam um muro entre eu e vocês.
Para mais, a inveja já me começou a atormentar. Odeio a Jinny porque ela me faz ver que tenho as mãos vermelhas e as unhas roídas. Amo com tanta violência,
que me sinto morrer quando o objecto do meu amor revela através de uma simples frase que tem poderes para me escapar. Ele escapa-se e eu fico agarrada a um fio que
não pára de subir e descer por entre as folhas das copas das árvores. Não compreendo frases.
– Se ao nascer ainda não soubesse que a uma palavra se segue outra – disse Bernard –, talvez, quem sabe?, pudesse ter sido qualquer coisa. Dado que assim não
foi e encontro sequências por toda a parte, não suporto o peso da solidão.
Sempre que não vejo as palavras circularem à minha volta quais anéis de fumo, sinto-me na escuridão, nessas alturas, nada sou. Quando estou só, deixo-me cair
na letargia e digo para mim mesmo enquanto espevito as brasas, que a Mrs. Moffat acabará por chegar e varrer tudo. Quando o Louis está só, as coisas surgem-lhe perante
os olhos com uma intensidade incrível, o que lhe permite escrever palavras que talvez nos sobrevivam. A Rhoda ama a solidão. Receia-nos porque a fazemos perder a
noção de ser, que se manifesta com grande intensidade quando não está ninguém por perto, reparem como ela pega no garfo, a sua arma contra nós. No entanto, eu só
existo quando o canalizador, o comerciante de cavalos, ou seja lá quem for, diz qualquer coisa que me desperta para a vida. É então que o fumo que se eleva da minha
frase se torna maravilhoso, subindo e descendo, flutuando e envolvendo as lagostas vermelhas e os frutos amarelos, tornando-os maravilhosos. Todavia, reparem só
na falsidade desta frase, construída de evasivas e velhas mentiras. É por isso que o meu carácter é em grande parte constituído pelos estímulos que me são fornecidos
pelos outros, não me pertencendo do mesmo modo que a vossa personalidade vos pertence. Existe uma linha fatal, um qualquer veio de prata, irregular e sem rumo certo,
a enfraquecê-la. Era precisamente por isso que o Neville tanto se irritava comigo no tempo em que ainda andávamos na escola e eu o deixava. Lembro-me que costumava
acompanhar os rapazes gabarolas que usavam bonés e distintivos, e que se movimentavam em grandes bandos, estão aqui alguns esta noite, jantando juntos, impecavelmente
vestidos, à espera do momento mais indicado para seguirem para o salão de dança. Adorava-os. O certo é que eles me fazem viver, tanto quanto vocês o fazem. Também,
quando me separo de vós e o comboio parte, sei que sentem que não é este que se vai embora, mas sim eu, Bernard, que não me interesso, que não sinto, que não tenho
bilhete, que talvez o tenha perdido na mala. A Susan, os olhos presos no fio que aparece por entre as folhas das faias, grita: “Ele partiu! Escapou-me!”. Não existe
nada a que me possa agarrar. Estou continuamente a ser montado e desmontado. Pessoas diferentes fazem-me pronunciar palavras diferentes.
Assim, esta noite não queria estar sentado junto a apenas uma pessoa, mas sim a cinquenta. Todavia, sou o único de entre vós que se senta aqui como se estivesse
em casa, e isto sem se deixar cair na vulgaridade. Não sou nem grosseiro nem snob. Se ficar exposto à pressão da sociedade, o certo é que, com a habilidade com que
falo, são muitas as vezes em que consigo transpor conceitos difíceis para expressões quotidianas. Vejam como os meus brinquedos, construídos a partir do nada em
apenas alguns segundos, servem de entretenimento. Não sou ganancioso – quando morrer, de mim apenas restará um armário repleto de roupas velhas – e mostro-me praticamente
indiferente face às vaidades menores da vida, as quais tantas torturas causam ao Louis. Mesmo assim, tenho feito bastantes sacrifícios. Dado que em mim correm veios
de ferro, prata, e até mesmo de lama, sou incapaz de tomar as atitudes firmes comuns aos que não dependem de estímulos. Não consigo recusar seja o que for, de mostrar
o heroísmo do Louis e da Rhoda. Nunca serei capaz, mesmo a falar, de construir uma frase perfeita. Porém, a minha contribuição para o momento presente foi bem maior
que a vossa; entrarei em mais quartos (e em quartos muito diferentes entre si) do que qualquer um de vós. Mas, acabarei por ser esquecido devido a algo que vem de
fora e não de dentro; quando me calar serei lembrado como o eco de uma voz que costumava ornamentar a fruta com frases.
– Olhem – disse Rhoda. – Escutem. Reparem como a luz se vai tornando mais rica de segundo a segundo, e de como floresce e repousa em toda a parte; e os nossos
olhos, à medida que percorrem esta sala com todas as suas mesas, parecem afastar as cortinas de muitas cores, vermelhas, alaranjadas, e de outras tonalidades estranhas,
as quais dão a sensação de que não param de se cruzar, fazendo com que as coisas se vão fundindo umas nas outras.
– Sim – disse Jinny -, os nossos sentidos alargam-se.
Membranas, teias de nervos, tudo se espalhou, flutuando à nossa volta como se fossem filamentos, fazendo com que o ar quase possa ser tocado, o que nos torna
possível escutar toda uma série de sons distantes que antes eram impossíveis de ouvir.
– Estamos cercados pelo tumulto de Londres – disse Louis. – Automóveis, carrinhas, autocarros, passam e continuam a passar sem nos dar descanso. Tudo se resume
a uma enorme roda composta por um só som. Todos os sons separados, rodas, campainhas, os gritos dos bêbedos, dos folgazões, se misturam numa melodia circular, azul
metalizada. É então que se ouve uma sirene. A costa vai desaparecendo, as chaminés ficando mais pequenas; o barco abre caminho rumo ao mar alto.
– O Percival vai-se embora – disse Neville. – Nós continuamos aqui sentados, formando um círculo, iluminados, coloridos; todas as coisas, mãos, cortinas, facas
e garfos, os outros indivíduos que aqui jantam, se precipitam umas contra as outras, confundindo-se. Aqui, estamos emparedados. Contudo, a Índia fica lá fora.
– Estou a ver a Índia – disse Bernard. – Vejo uma praia enorme, sem dunas; vejo os caminhos tortuosos e enlameados que cercam os pagodes semi-arruinados; vejo
os edifícios dourados e com ameias, os quais apresentam um tal ar de fragilidade e decadência, que dão a sensação de que foram construídos apenas para fazerem parte
de uma qualquer exposição dedicada ao Oriente. Vejo dois bois a puxar uma carroça ao longo de uma estrada torrada pelo sol. A carroça não pára de baloiçar perigosamente
de um lado para o outro. Uma roda acaba por ficar presa na berma, e de pronto são muitos os nativos que, envergando apenas um pano em torno das ancas, a rodeiam,
falando com toda a excitação.
Contudo, nada fazem. O tempo parece não ter fim, a ambição parece ser inútil. Por sobre todos paira o sentimento de que o esforço humano de nada vale. Está-se
no reino dos odores azedos. Um homem de idade, sentado na valeta, continua a mascar bétel e a contemplar o umbigo. Mas, esperem, é o Percival quem se aproxima; vem
montado numa égua cheia de mordidelas de pulgas, e usa um capacete destinado a protegê-lo do sol. Através da aplicação dos métodos ocidentais, servindo-se da linguagem
violenta que lhe é natural, o carro de bois fica direito em menos de cinco minutos. O problema oriental foi resolvido. Ele prossegue o seu caminho; a multidão rodeia,
olhando-o como se estivesse na presença de um deus – coisa que ele de facto é.
– Desconhecido, com ou sem segredos, nada disso importa – disse Rhoda. – O certo é que ele é como uma pedra que se afunda num lago habitado por pequenos peixes.
Tal como estes, também nós, que antes tínhamos andado a deambular de um lado para o outro, nos aproximamos rapidamente quando o vemos chegar. Tal como os pequenos
peixes, conscientes da presença de uma enorme pedra, vamos nadando e ondulando com toda a alegria. Somos invadidos por uma sensação de conforto. Corre-nos ouro no
sangue. Um, dois; um, dois; o coração vai batendo com serenidade, com confiança, num qualquer transe de bem-estar, num qualquer êxtase de benevolência; e, reparem,
as partes mais distantes da terra, as sombras mais pálidas do horizonte, por exemplo, a Índia, elevam-se frente aos nossos olhos. O mundo, até agora uma superfície
enrugada, torna-se liso; as províncias mais remotas são trazidas à luz do dia; vemos estradas enlameadas, selvas confusas, enxames de homens, não esquecendo o abutre
que se alimenta da carne existente num qualquer corpo em putrefacção; tudo isto surge perante os nossos olhos; tudo isto pertence a uma qualquer província esplêndida
e orgulhosa, pois o Percival, montado numa égua mordida pelas pulgas, vai avançando por um carreiro solitário, rodeado de árvores desoladas, até acabar por se sentar
sozinho, a olhar para as montanhas gigantescas.
– É o Percival – disse Louis –, que sentado em silêncio no meio das ervas, vendo a brisa soprar as nuvens para de novo as juntar, é o Percival, dizia, quem
nos faz compreender o quanto são falsas estas tentativas de dizer sou isto, sou aquilo, as quais nos vão surgindo como se fossem pedaços separados de um corpo e
de uma alma. O medo fez-nos pôr qualquer coisa de parte. A vontade fez com que algo se alterasse. Tentamos acentuar as diferenças. O desejo de estarmos separados
fez com que sublinhássemos os nossos erros e tudo o que nos é próprio. Contudo, há uma corrente que nos cerca, um círculo azul-metalizado.
– Poderá ser ódio, poderá ser amor – disse Susan. – Trata-se de um curso de água violento e negro, que, e se olharmos bem para ele, nos faz ficar tontos. Estamos
numa espécie de parapeito, mas temos vertigens se baixarmos os olhos.
– Poderá ser amor – disse Jinny –, poderá ser ódio, mais ou menos como o que a Susan sente por mim por, certa vez, ter beijado o Louis no jardim, por, e devido
aos meus atributos físicos, a ter feito pensar quando entrei: Tenho as mãos vermelhas, acabando por as esconder. Todavia, o ódio que sentimos é quase impossível
de separar daquilo que chamamos amor.
– Mesmo assim – disse Neville –, estas águas tumultuosas sobre as quais construímos as nossas plataformas são mais estáveis que os gritos selvagens, fracos
e inconsequentes, que emitimos quando tentamos falar; quando argumentamos e pronunciamos frases tão falsas como estas: “Sou isto; sou aquilo!”. O discurso é falso.
Porém, continuo a comer. Aos poucos, vou perdendo consciência do que como. A comida começa a pesar-me. Estes deliciosos pedaços de pato assado, devidamente
acompanhados de vegetais, seguindo-se um atrás do outro numa estranha rotação de calor, de peso, de doce e de amargo, vão-me deslizando pela garganta até chegarem
ao estômago, onde acabam por estabilizar o meu corpo. Sinto-me calmo, grave, controlado. Tudo se tornou sólido. Como que por instinto, o meu paladar requer e antecipa
algo de doce e leve, algo de açucarado e evanescente. É então que bebo uma golada de vinho fresco, que parece cair que nem uma luva nas ramificações nervosas que
palpitam no céu da minha boca, fazendo-o deslizar (à medida que bebo) para uma caverna abobadada, verde, devido às folhas de videira que nela existem, vermelha devido
às uvas moscatel. Posso agora olhar a direito para o curso de água que corre a meus pés. Que nome lhe deveremos dar? O melhor é deixarmos falar a Rhoda, cujo rosto
vejo reflectido no espelho que se encontra no lado oposto; a Rhoda, a quem interrompi quando ela balançava pétalas numa taça castanha, perguntando-lhe se vira o
canivete que o Bernard roubara. Para ela, o amor não é um turbilhão. Não sente vertigens quando olha para baixo. Os seus olhos estão fixos muito para lá das nossas
cabeças, muito para lá da Índia.
– Sim, por entre os vossos ombros, por sobre as vossas cabeças, em direcção a uma paisagem – disse Rhoda –, para um local onde as muitas montanhas íngremes
parecem precipitar-se sobre nós como aves com as asas fechadas. Aí, por entre a erva curta e firme, podem ver-se arbustos de folhas escuras, e é recortando-se contra
este negrume que vejo uma forma branca, mas não de pedra, e que se vai movendo. Talvez esteja viva. Contudo, não és nem tu, nem tu, nem sequer tu; não é o Percival,
a Susan, a Jinny, o Neville ou o Louis, Forma-se um triângulo quando o braço branco repoisa no joelho; agora está direito, é uma coluna; agora uma fonte, caindo.
Não faz qualquer sinal, não acena, nem mesmo nos chega a ver. O mar ruge atrás de si. Está para lá do nosso alcance. No entanto, é para lá que me aventuro. É para
lá que me dirijo tentando preencher o vazio que sinto, tentando conseguir aumentar a duração das minhas noites e enchê-las cada vez mais de sonhos. E, até mesmo
agora, até mesmo aqui, consigo atingir o objecto que procuro e dizer-lhe: “Não procures mais. Tudo o resto não passa de testes e suposições. Nada mais há para além
disto.” Porém, estas peregrinações, estes momentos de ausência, começam sempre junto a vós, nesta mesa, a partir destas luzes, do Percival e da Susan, do aqui e
do agora. Estou sempre a ver o meu bosque por sobre as vossas cabeças, por entre os vossos ombros, ou através de uma janela onde acabei por me encostar a olhar para
a rua depois de ter atravessado o salão, decorria na altura uma festa.
– Mas, e os chinelos dele? – disse Neville. – E a sua voz ecoando pelas escadas? E o facto de o vermos quando ele não repara em ninguém? Fica-se à espera dele
e ele não vem. Está-se a fazer cada vez mais tarde. Esqueceu-se. Está com outra pessoa. É infiel, o seu amor não tem qualquer significado. Oh, e depois há esta agonia,
este desespero intolerável! É então que a porta se abre. Cá está ele.
– Brilhando, brilhando cada vez mais e mais, ordenei-lhe que viesse – disse Jinny. – E ele vem; atravessa a sala até chegar ao ponto onde estou sentada, com
o vestido ondulando à minha volta como um véu em torno de uma cadeira dourada.
As nossas mãos tocam-se, os nossos corpos sofrem uma explosão de luz. A cadeira, a chávena, a mesa, nada fica por iluminar. Tudo estremece, tudo se incendeia,
tudo arde de forma mais clara.
– Repara, Rhoda – disse Louis – transformaram-se em seres nocturnos, extasiados. Os seus olhos assemelham-se às asas das borboletas nocturnas, que se movem
tão rapidamente que parecem nem se mover.
– Ouvem-se trompas e trombetas – disse Rhoda. – As folhas abrem-se, os veados vão balindo por entre o matagal.
Ouvem-se tambores e dá-se início a uma dança, qualquer coisa de semelhante às danças e aos tambores de homens nus empunhando lanças.
– Semelhante às danças dos selvagens – disse Louis –, quando estes as executam em redor da fogueira. São selvagens; são impiedosos. Dançam em círculo e empunham
bexigas, chamas trepam-lhes pelos rostos pintados, cobrem-lhes as peles de leopardo e os membros sangrentos que foram arrancados aos animais quando estes ainda eram
vivos.
– As chamas vão-se elevando nos ares – disse Rhoda. – A procissão vai avançando e os indivíduos que nela se integram agitam folhas verdes e ramos floridos.
Das suas cornetas eleva-se um fumo azulado; a luz dos archotes faz com que as suas peles adquiram tons avermelhados e amarelos. Lançam violetas. Coroam os seres
amados com grinaldas e folhas de louro, ali, no anel de turfa onde confluem as colinas íngremes. E, à medida que o faz, Louis, ambos estamos conscientes da decadência,
ambos vaticinamos a ruína. A sombra inclina-se. Nós, os conspiradores, recuamos com vista a nos encontrarmos a uma qualquer urna fria, e reparamos no modo como as
chamas rubras flutuam em direcção ao abismo.
– A morte ligou-se para sempre às violetas – disse Louis. – A morte e ainda outra vez a morte.
– Com que orgulho estamos aqui sentados – disse Jinny –, nós que ainda nem fizemos vinte e cinco anos! Lá fora, as árvores cobrem-se de flores; lá fora, as
mulheres deslizam; lá fora, os carros descrevem curvas e contra-curvas. Emergindo depois de uma série de tentativas, depois da obscuridade e do deslumbramento da
juventude, olhamos para o que se encontra à nossa frente, prontos para o que há-de vir (a porta abre-se, a porta não pára de se abrir). Tudo é real; tudo é firme,
sem sombras ou ilusões. Há beleza no desenho das nossas sobrancelhas, das minhas e das da Susan. A nossa carne é firme e fresca. As diferenças que entre nós existem
são tão óbvias como as sombras provocadas pela luz do Sol ao incidir numa rocha. Amarelas e bem definidas, pairam junto a nós; a toalha é branca; temos as mãos semifechadas,
prontas a se contrair. Espera-nos um nunca mais acabar de dias e dias; dias de Inverno e de Verão; ainda mal tomámos posse do tesouro que nos pertence. A fruta acabou
de inchar por baixo das folhas. A sala está iluminada por um halo dourado, e eu digo-lhe: Vem.
– Ele tem as orelhas vermelhas – disse Louis –, e o cheiro a carne forma como que uma rede úmida que paira sobre nós, enquanto os empregados de escritório
da cidade tomam as refeições ao balcão.
– Será por termos a eternidade pela frente – disse Neville –, que perguntamos o que devemos fazer? Deveremos descer Bond Street, a olhar para aqui e para ali,
acabando por comprar uma caneta de tinta-permanente só porque esta é verde, ou limitando-nos a perguntar o preço do anel com a pedra azul?
Ou deveremos antes ir para casa, ver os carvões tornarem-se rubros? Deveremos antes estender as mãos para os livros e ler esta ou aquela passagem? Deveremos
explodir em gargalhadas sem qualquer razão aparente? Deveremos deambular por prados floridos e fazer coroas de margaridas? Deveremos descobrir quando parte o próximo
comboio para as Hébridas e reservar um compartimento? Temos tudo isso pela frente.
– Vocês têm-no – disse Bernard –, mas ontem esbarrei contra uma coluna. Fiquei noivo.
– O aspecto destes pedacinhos de açúcar que estão junto aos nossos pratos – disse Susan –, é tão estranho! O mesmo se passa com as cascas manchadas das pêras
e os aros dos espelhos. Nunca antes vira nada disto. Está tudo pronto; está tudo decidido. O Bernard está noivo. Aconteceu algo irrevogável.
As águas reflectem agora um círculo; foi-nos imposta uma corrente. Nunca mais voltaremos a flutuar em liberdade.
– Por apenas um momento – disse Louis. – Antes de a cadeia se partir, antes do regresso da desordem, vê-nos fixos, vê-nos colocados, vê-nos dispostos em círculo.
Porém, este acabou agora mesmo de se quebrar. A corrente voltou a correr. Movendo-nos ainda mais depressa que antes. Agora, as paixões que antes descansavam
junto às algas escuras vêm à superfície, alarmando-nos com o barulho provocado pelo rebentar das suas ondas. Dor e ciúme, inveja e desejo, e também algo ainda mais
profundo, mais forte e mais subterrâneo que o amor. Fala a voz da acção. Escuta, Rhoda (pois, com as mãos na urna fria, somos como conspiradores). Escuta os sons
rápidos, casuais, excitantes, da voz da acção, dos perdigueiros farejando um carreiro. Falam agora sem sequer se darem ao trabalho de completar as frases. Utilizam
uma linguagem semelhante à dos amantes. São possuídos por uma qualquer fera imperiosa. Têm os nervos à flor da pele. Os seus corações cavalgam com violência. A Susan
vai amarrotando o lenço. Os olhos da Jinny dançam como que alimentados pelo fogo.
– Eles estão imunes ao toque dos dedos e à indiscrição dos olhares – disse Rhoda. – Reparem no à-vontade com que se viram e olham; nas suas poses de energia
e orgulho! Quanta vida brilha no olhar da Jinny; quando procura insectos por entre as raízes, a expressão dos olhos da Susan é inteira! Os seus cabelos são brilhantes.
Os seus olhos queimam, semelhantes aos dos animais que se embrenham entre as folhas farejando a presa. O círculo foi destruído. Somos atirados para um lado qualquer.
– Mas – disse Bernard –, este êxtase egotista não demora muito a terminar. O momento voraz da identidade não tarda a chegar ao fim, e o apetite que antes sentíamos
pela felicidade, por uma felicidade sem fim, é engolido com sofreguidão. A pedra afunda-se; o momento já passou. Em meu redor, estende-se uma vasta margem de indiferença.
Abrem-se agora mil olhares curiosos frente a mim. Qualquer um tem agora liberdade para matar o Bernard, que está noivo e vai casar, isto desde que deixe intacta
esta margem de território desconhecido, esta floresta de um mundo por desbravar. Por que razão, pergunto (murmurando discretamente), estarão aquelas mulheres ali
a jantar sozinhas? Quem serão? E o que as terá trazido nesta noite a este local? A avaliar pelo modo nervoso com que leva a mão à nuca de vez em quando, o jovem
que está sentado naquele canto vem do campo. Tem um ar suplicante, e está tão desejoso de responder de forma conveniente à amabilidade do amigo do pai (que lhe serve
de anfitrião), que mal consegue tirar prazer daquilo que às onze e meia da manhã seguinte lhe dará a maior das satisfações. Já é a terceira vez que vejo aquela senhora
empoar o nariz no decorrer de uma conversa absorvente, talvez que a respeito do amor, talvez que a respeito da infelicidade que se abateu sobre a sua melhor amiga.
É então que se lembra, “Ah, não me posso esquecer do nariz!”. Dito isto, pega na borla de pó-de-arroz e com ela dissolve todos os sentimentos mais calorosos do coração
humano. Contudo, continua por solucionar o problema do homem solitário e do seu olho de vidro, bem assim como o da mulher de idade que bebe champanhe sem que ninguém
a acompanhe. Quem e o quê serão estas pessoas desconhecidas?, pergunto. Poderia construir dúzias de histórias a respeito do que ambos disseram, posso ver dúzias
de imagens. No entanto, o que são as minhas histórias? Brinquedos com que me entretenho, bolas de sabão que sopro, um anel passando através de outro. Para mais,
às vezes começo a duvidar da sua existência. O que é a minha história? O que é a história da Rhoda? E a do Neville? É certo que existem factos, como por exemplo:
O jovem de fato cinzento, indivíduo bem-parecido e cuja reserva contrastava de forma estranha com a loucura dos outros, sacudiu as migalhas do colete, e, com um
gesto simultaneamente autoritário e benevolente, fez sinal ao criado, que de imediato se voltou, regressando instantes mais tarde com a conta dobrada de forma discreta
em cima de uma bandeja. Tudo isto é verdade; tudo isto constitui um facto, mas para além dele só existem conjecturas e escuridão.
– Mais uma vez – disse Louis –, agora que estamos prestes a nos separar (já pagámos a conta), o círculo que nos corre pelas veias volta a se formar, mesmo
depois de ter sido quebrado tantas vezes e de forma tão abrupta. Algo se conseguiu. Sim, quando nos levantamos, um pouco nervosos, rezamos uma espécie de oração
que transmite este sentimento comum, Não se mexam, não deixem que a porta de vaivém destrua aquilo que construímos e se concentra aqui, entre estas luzes, estas
cascas, estes montes de côdeas de pão e de gente a passar. Não se mexam, não se vão embora. Deixem-se ficar para sempre.
– Vamos mantê-lo assim por um momento – disse Jinny –, amor, ódio, seja qual for o nome por que o chamemos, a este globo cujas paredes só existem devido ao
Percival, à juventude e à beleza, e também a algo tão profundamente interiorizado em nós, que é provável que nunca se venha a conseguir um momento igual a este.
– Estão aqui representadas as florestas e os países distantes que existem do outro lado do mundo – disse Rhoda. – Mares e selvas; os uivos dos chacais e o
luar caindo num qualquer pico sobre o qual a águia paira.
– Estão aqui representadas a felicidade e a paz das coisas comuns – disse Neville. – Uma mesa, uma cadeira, um livro com uma faca de papel enfiada entre as
páginas. A pétala a cair da rosa e a luz brilhando à nossa volta, quer quando estamos em silêncio quer quando dizemos uma qualquer trivialidade.
– Estão aqui contidos os dias da semana – disse Susan. – Segunda, terça, quarta; os cavalos a subir os campos e o seu posterior regresso; as gralhas voando
para cima e para baixo, envolvendo os ulmeiros na sua rede, e isto quer em Abril quer em Novembro.
– Estão aqui contidos todos os momentos que hão-de vir – disse Bernard. – Trata-se da última gota, e também da mais brilhante, que deixamos cair no momento
maravilhoso criado em nós pelo Percival.
Que virá a seguir?, pergunto, sacudindo as migalhas do colete. O que me espera lá fora? Provámos, pelo simples facto de termos estado aqui sentados, a comer
e a falar, que podemos trazer algo de novo à arca dos tesouros. Não somos obrigados a vergar as costas e a apanhar todas as chicotadas que nos quiserem dar. Também
não somos carneiros, prontos a seguir um mestre. Somos criadores. Construímos algo que se juntará aos inúmeros feitos do passado. Também nós, à medida que pomos
os chapéus e abrimos a porta, saímos de encontro a um mundo que a nossa força pode subjugar, fazendo-nos pertencer àquela estrada iluminada e eterna, e não ao caos.
Agora, enquanto eles chamam o táxi, talvez não seja má ideia dares uma olhadela ao que vais perder, Percival. A estrada é dura e polida devido ao passar de
muitas rodas. O dossel amarelo da enorme energia que emanamos paira por sobre as nossas cabeças como um tecido a arder. Essa luz é provocada por toda a espécie de
teatros, salões de música e candeeiros acesos nas habitações.
– Nuvens pontiagudas – disse Rhoda –, viajamos por um céu escuro, semelhante a ossos de baleia polidos.
– É agora que começa a agonia; é agora que o terror me agarra com as suas garras – disse Neville. – É agora que o táxi chega; é agora que o Percival parte.
Que podemos nós fazer para o manter junto a nós? Como encurtar a distância que nos separa? Como atiçar este fogo de forma a fazê-lo arder para sempre? Como registrar
para todo o sempre que nós, os que aqui se encontram nesta rua iluminada, amámos o Percival? Ele já nos abandonou.
O Sol atingira o ponto mais alto. Deixara de se mostrar semi-oculto e semipressentido através de insinuações subtis e brilhos, tal como se fosse uma jovem
repousando num manto verde-marinho, a fronte enfeitada de jóias semelhantes a gotas de água, das quais, e vistas sob determinados ângulos, se elevam luzes opalinas
que faiscam no ar como se de flancos de golfinhos a saltar ou lâminas cortantes se tratasse. Era agora impossível negar o ardor intenso do sol. Os seus raios batiam
na areia dura, e as rochas transformavam-se em fornos rubros; nem os mais pequenos charcos lhes escapavam, o mesmo se passando com os peixes minúsculos que neles
se ocultavam por entre as algas. Nada do que fora deixado na areia lhes conseguia fugir. A roda enferrujada, o osso branco, ou até mesmo a bota sem atacadores, negra
como uma barra de ferro. Conferiam a todas as coisas a medida exacta de cor; os incontáveis brilhos característicos das dunas, o verde lustroso das ervas selvagens;
ou então deixavam-se cair na vastidão do deserto, aqui enrugado pelo vento, ali varrido para dentro de dólmens abandonados, acolá manchado pelo verde-escuro das
árvores típicas da selva. Iluminavam as cúpulas douradas das mesquitas, as frágeis casas cor-de-rosa e brancas características do Sul, e as mulheres de peitos grandes
e cabelos brancos que se ajoelhavam junto ao rio, batendo as roupas enrugadas contra as pedras. O olhar impávido do Sol abarcava os navios a vapor que vogavam devagar
pelas águas do mar, e, atravessando a cobertura construída pelos toldos amarelos, batia nos passageiros que dormitavam ou passeavam no convés, os quais se viam obrigados
a proteger os olhos com a mão, à medida que, dia após dia, comprimido nos seus flancos oleados, o navio os continuava a transportar de forma monótona através das
águas.
O sol batia nos cumes apinhados das encostas do sul, reflectindo-se nos leitos rochosos e profundos dos rios, sobretudo nos locais onde a água se apertara
contra os pilares esguios das pontes de tal forma que as lavadeiras ajoelhadas nas pedras escaldantes mal tinham espaço para umedecer as roupas e onde as mulas escanzeladas
abriam caminho por entre pedras cinzentas, transportando alforjes por sobre o dorso estreito. Ao meio-dia, o calor do sol tornava cinzentas as montanhas, tal como
se tivessem sido desnudadas e queimadas durante uma qualquer explosão, enquanto, mais a norte, nos países mais enevoados e chuvosos as colinas adquiriam a suavidade
de uma laje e uma luz própria, como se uma sentinela, oculta nas profundezas fosse caminhando pelas diversas câmaras transportando um lampião verde. O Sol atingia
os campos ingleses escoando-se através de átomos de ar cinzento-azulados, iluminando pântanos e charcos, uma gaivota branca pousada num mastro, o lento pairar das
sombras por sobre os bosques e os campos de milho novo e feno ondulante.
Incidia na parede do pomar, e os grãos de todos os tijolos pareciam iluminados por uma luz prateada, rubra, mas que, e ao mesmo tempo dava a sensação de ser
suave ao toque, como se o simples facto de ser tocada fizesse com que se derretesse em grãos de poeira. As groselhas apoiavam-se ao muro, provocando cascatas de
um vermelho lustroso; as ameixas rompiam por entre as folhas, e todas as tonalidades de erva se uniam numa torrente fluida de verde. A sombra das águas afundava-se
num ponto escuro junto às raízes. A luz que caía em cascatas dissolvia a vegetação separada, transformando-a numa única mancha verde.
As aves entoavam com fervor melodias destinadas apenas a um emissário, depois do que paravam. Emitindo toda a espécie de ruídos abafados, transportavam pequenas
palhas e raminhos, juntando-os nos escuros nós situados nos ramos mais altos das árvores. Douradas e purpúreas, empoleiravam-se nos ramos existentes no jardim, onde
cones de laburno e carmim albergavam manchas douradas e lilases, pois que agora, ao meio-dia o jardim não podia estar mais florido, e até os túneis por baixo das
plantas apresentavam tons de verde, vermelho e amarelo-torrado, consoante o sol se escoava através de pétalas encarnadas e amarelas, ou tivesse dificuldade em atravessar
um qualquer caule mais grosso.
O sol incidia directamente na casa, fazendo luzir as paredes brancas situadas entre as janelas escuras. As vidraças, unidas com os ramos verdes numa trama
quase que inseparável, construíam círculos de uma escuridão impenetrável. Triângulos de luz possuidores de contornos bem definidos poisavam nos parapeitos das janelas,
revelando o conteúdo das diversas salas: pratos enfeitados de anéis azuis, chávenas com pegas curvas, a forma de uma qualquer tigela de grandes dimensões, o padrão
axadrezado do tapete, e todos os recantos e paredes forrados com papeleiras e estantes. Para lá deste conglomerado situava-se uma zona de sombras, na qual talvez
se pudesse descobrir uma qualquer outra forma, ou nada mais existisse para além de abismos ainda mais profundos de escuridão.
As ondas quebravam-se, espalhando as águas com suavidade ao longo da praia. Uma a seguir à outra, enrolavam-se e caíam; devido à energia com que o faziam,
as gotas eram obrigadas a recuar. As ondas apresentavam uma coloração azul profunda excepto no que respeitava a um ponto luminoso em forma de diamante situado na
crista, que se encrespava de forma semelhante à que acompanha os movimentos dos músculos dos cavalos. As ondas quebravam; recuavam e voltavam a quebrar, emitindo
um som semelhante ao que é provocado pelo bater das patas de um animal de grande porte.
– Morreu – disse Neville. – Caiu. O cavalo tropeçou.
Foi cuspido. As velas do mundo giravam com violência e atingiram-me em cheio na cabeça. Tudo terminou. Apagaram-se as luzes do mundo. Aquela é a árvore através
da qual não passo.
Oh, se eu pudesse rasgar este telegrama – devolver a luz ao mundo – dizer que isto não aconteceu! Mas para quê bater com a cabeça nas paredes? Trata-se da
verdade. Trata-se de um facto. O cavalo tropeçou; ele caiu. As árvores brilhantes e a vedação branca estilhaçaram-se em mil pedaços. Toldou-se-lhe o olhar; sentiu
um tambor ressoar junto aos seus ouvidos. Só então se deu a explosão; o mundo desabou; faltou-lhe o ar. Morreu ao chegar ao solo.
Celeiros e dias estivais passados no campo, salas onde nos sentamos – tudo isso pertence agora a um mundo irreal que já não existe mais. Deixei de ter passado.
Os outros aproximaram-se a correr. Levaram-no para um qualquer pavilhão; tratava-se de homens com botas de montar e chapéus coloniais. Morreu entre desconhecidos.
Era com frequência que a solidão e o silêncio o rodeavam. E depois, ao voltar, eu dizia sempre “Olhem quem lá vem!”.
As mulheres andam como se na rua não existisse um abismo, nenhuma árvore de folhas rijas através da qual é impossível passar. Não há dúvida de que merecemos
ser soterrados. Somos terrivelmente abjectos, avançando de olhos fechados. Mas por que razão me deverei submeter? Para quê tentar erguer o pé e subir as escadas?
É aqui que me encontro; aqui, a segurar o telegrama. O passado (os dias estivais e as salas onde nos sentávamos) vão desaparecendo como se fossem papéis queimados
contendo olhos vermelhos.
Para quê marcar encontros e retomar velhas amizades? Para quê falar, comer, e combinar coisas com outras pessoas? Estarei sempre só a partir de agora. Ninguém
mais me conhecerá. Tenho três cartas. “Vou jogar quoits com um coronel, por isso fico por aqui.” É assim que ele termina a nossa amizade, abrindo caminho por entre
a multidão ao mesmo tempo que se despede com um aceno. Esta farsa não merece que a voltemos a celebrar em termos formais. Contudo, se alguém tivesse dito “Espera”,
talvez ele tivesse apertado melhor a correia – talvez vivesse por mais cinquenta anos e acabasse por arranjar lugar na corte, comandando tropas e denunciando tiranias
monstruosas, tudo para acabar por regressar para junto de nós.
Digo agora que existe um sorriso, uma evasiva. Existe algo que ri de forma escarninha nas nossas costas. Aquele rapaz quase que caía ao subir para o autocarro.
O Percival caiu; morreu; está enterrado; e eu vejo as pessoas passarem; agarrar-se com força aos varões dos autocarros, determinadas a salvar a vida.
Não levantarei o pé para subir a escada. Vou-me deixar ficar um pouco mais debaixo desta árvore insaciável, a sós com o homem do pescoço cortado, enquanto
no andar de baixo a cozinheira se ocupa do fogão. Não subirei a escada. Estamos condenados, todos nós. As mulheres vão passando a correr, carregadas com os sacos
das compras. As pessoas não param de correr. Porém, vocês não me vão destruir. Durante este instante, este breve instante, estamos juntos. Aperto-vos contra mim.
Vem, dor, alimenta-te em mim. Enterra as tuas presas na minha carne. Desfaz-me em pedaços. Soluço, soluço.
– Assim é a incompreensível combinação das coisas – disse Bernard –, assim é a complexidade das coisas. O certo é que, enquanto vou descendo as escadas, não
sei distinguir a dor da alegria. O meu filho nasceu; o Percival está morto. Vou-me apoiando aos pilares; estou rodeado por emoções fortes; todavia, como distinguir
a tristeza da alegria? Faço esta pergunta a mim mesmo e não encontro qualquer resposta. Sei apenas que preciso de silêncio, de estar só e de sair daqui, e de passar
uma hora a meditar sobre o que aconteceu ao meu mundo, que tipo de morte nele ocorreu.
É então este o mundo que o Percival nunca mais verá.
Deixa-me olhá-lo. O carniceiro entrega carne na porta ao lado; dois velhotes arrastam-se pela calçada; os pardais levantam voo.
Há ali uma máquina a funcionar; sinto o seu ritmo, e dado ele já não a ver, encaro-a como algo de que já não faço parte. (A estas horas, o seu corpo pálido
e amortalhado repousa numa qualquer sala.) Chegou agora a minha oportunidade de descobrir o que é de facto importante, e para tal devo ter muito cuidado e não dizer
mentiras. O que sentia a seu respeito resume-se a isto: ele ocupava o lugar central. Já não vou mais a esse ponto.
O lugar está vazio.
Oh, sim, posso garantir-vos, homens de chapéus de feltro e mulheres transportando cestos – perderam algo que vos seria de grande valor. Perderam um chefe que
não teriam relutância em seguir; e uma de vós perdeu a felicidade e os filhos.
Aquele que vos daria tudo isto está agora morto. Está em cima de uma maca, enrolado em ligaduras, num qualquer hospital indiano, isto enquanto os nativos,
sentados no chão, agitam aqueles leques – esqueci-me de como se chamam. Contudo, “isto é importante; Vocês não sabem de nada”, disse, ao mesmo tempo que as pombas
poisavam nos telhados e o meu filho nascia. Lembro-me bastante bem do ar de desapego que o caracterizava enquanto rapaz. E lá acabo por dizer (os meus olhos vão-se
enchendo de lágrimas que secam quase no mesmo instante) que: “Mas isto é melhor do que aquilo que se poderia esperar”. É isto que digo, dirigindo-me ao abstracto,
vendo-me cego no fundo da avenida, no céu: “Será que não podes fazer mais nada?”. Acabamos por triunfar. “Fizeste tudo o que podias”, digo, falando com aquele rosto
vazio, brutal e sem qualquer préstimo (pois ele só tinha vinte e cinco anos e devia ter vivido até aos oitenta). Não me vou deitar no chão e chorar toda uma vida.
(Temos aqui uma boa entrada para a minha agenda; desprezo por todos aqueles que impõem mortes sem sentido.) Para mais, e isto é importante, eu devia ter sido capaz
de o ter colocado em situações banais e ridículas, pois só assim evitaria encará-lo como algo absurdo, montado num enorme cavalo. Devia ter sido capaz de dizer:
“Percival mas que nome, tão ridículo!”. Contudo, deixem-me que vos diga, homens e mulheres que se precipitam para a estação de metropolitano, que teriam de o respeitar.
Teriam de se alinhar atrás dele e segui-lo. É tão estranho abrir caminho ao longo de multidões que vêem a vida através de olhos vazios, escaldantes.
Todavia, registra-se já a existência de sinais, chamamentos, tentativas de me fazer voltar atrás. A curiosidade só pode ser eliminada durante breves instantes.
Não se pode viver fora da máquina durante mais de meia hora. Reparo que os corpos começam a parecer-se vulgares. Porém, há qualquer coisa por trás deles que não
é a mesma – a perspectiva. Por detrás daquela banca de jornais encontra-se o hospital; uma sala enorme onde homens de pele escura puxam cordas; é então que o enterram.
Mesmo assim, e dado que num dos jornais se fala no divórcio de uma actriz famosa, sou incapaz de perguntar: “Quem?”. Todavia, não consigo puxar da carteira; não
consigo comprar o jornal, ainda não consigo ser interrompido.
Pergunto-me de que modo poderemos comunicar se nunca mais te verei, se nunca mais poderei fixar o olhar na solidez que te caracterizava. Foste avançado através
do pátio, enlaçando-nos na teia que nos ligava. De qualquer dos modos, existes em alguma parte. Restam ainda vestígios de ti. O papel de juiz. Ou seja, se descobrir
em mim uma nova veia, por certo a submeterei à tua apreciação. Perguntarei: “Qual o teu veredicto?”. Continuarás a ser o árbitro. Mas por quanto tempo? As coisas
tornar-se-ão demasiado difíceis para serem explicadas de forma adequada: existirão coisas novas; o meu filho é uma delas. Atingi o zênite da minha experiência. A
ele se seguirá o declínio. Deixei de exclamar “Que sorte!” de um modo convicto. Acabou-se a exaltação, o voo das pombas cruzando os céus. Assisto ao regresso do
caos. Já não me espanto com os nomes escritos por cima das montras das lojas. Deixei de sentir. “Para quê apressar-me? Para quê apanhar o comboio?” As coisas regressam
como em sequência; despoletam-se mutuamente – a ordem do costume.
Todavia, continuo a me ressentir da ordem do costume. Ainda me recuso a aceitar de ânimo leve a sequência dos factos. Andarei; não vou alterar o ritmo da minha
mente só porque paro e olho; continuarei a andar. Vou subir estes degraus, entrar na galeria e submeter-me à influência de uma série de mentes iguais à minha, tudo
fora da sequência. Tenho pouco tempo para responder à pergunta; o meu poder enfraquece; torno-me apático. Cá estão os quadros. Cá estão as frias madonas entre as
suas colunas. Elas que façam parar a actividade incessante desta espécie de olho mental, elas que façam parar as imagens da cabeça envolta em ligaduras e dos homens
com as cordas, pois só assim poderei encontrar qualquer coisa que não se veja. Cá estão os jardins; e Vênus por entre as flores; cá estão os santos e as madonas
de ar triste. Felizmente, trata-se de imagens que a nada aludem; não apontam; não nos chamam a atenção com cotoveladas. É assim que expandem a consciência que dele
tenho, devolvendo-mo de maneira diferente. Recordo o quanto era belo. “Reparem, lá vem ele”, dizia.
As linhas e as cores quase me convencem de que posso ser um herói, eu, que construo frases com tanta facilidade. De imediato, me sinto seduzido, pronto para
amar o que vem a seguir, incapaz de cerrar os punhos, vacilante, construindo frases de acordo com as circunstâncias. Agora, devido à dor que sinto, descubro o que
ele era: o meu oposto. Dado ser verdadeiro por natureza, não via qualquer interesse em exagerar, deixando-se levar por uma percepção natural do que era próprio.
De facto, tratava-se de um grande mestre da arte de viver, pois só assim se explicava a sensação de que viveu durante muito tempo, tendo também espalhado uma grande
calma à sua volta. Talvez que a isto se possa chamar “indiferença”. Contudo, temos de dizer que nele também existia uma grande dose de compaixão. Uma criança a brincar
– um entardecer estival, as portas irão continuar a se abrir e fechar, e através delas verei sinais que me farão chorar. Trata-se de coisas que não podem ser partilhadas.
Daí a solidão e o desamparo que nos caracterizam. Viro-me para esse ponto da mente e encontro-o vazio. Sinto-me oprimido pelos meus próprios defeitos. Já não o tenho
para dele contrastar.
Reparem naquela madona de olhos rasos de água. É este o meu serviço fúnebre. Não temos cerimônias, apenas cânticos privados e nada de conclusões, apenas sensações
violentas, todas separadas umas das outras. Nada do que foi dito nos serve. Estamos sentados na sala italiana da National Gallery, e outra coisa não fazemos senão
recolher fragmentos. Duvido que Ticiano tenha alguma vez sentido este ratinho a roer. Os pintores levam uma vida de absorção metódica, adicionando pinceladas. Não
são como os poetas – bodes expiatórios; não estão acorrentados a rochas. Daí o silêncio, a sensação do sublime. Mesmo assim, aquele vermelho deve ter-lhe queimado
a garganta. Sem dúvida que se elevou nos ares, segurando uma enorme cornucópia, e acabou por ser tragado por ela. Porém, o silêncio pesa-me – a solicitação permanente
da vista. Trata-se de uma pressão intermitente e abafada. Pouco distingo e vejo-o de forma vaga. Carreguei na campainha mas ela não toca nem dela saem quaisquer
sons. Há um qualquer esplendor que me excita; o vermelho forte contrastando com o verde; o curso dos pilares; a luz alaranjada espreitando por detrás das folhas
escuras das oliveiras. Sinto-me percorrido por vagas de sensação, mas estas são desordenadas.
Contudo, algo se veio juntar à minha interpretação. Há em mim qualquer coisa de profundamente oculto. Por instantes, cheguei mesmo a pensar tê-la descoberto.
Mas o melhor será enterrá-la, enterrá-la; deixá-la crescer oculta nas profundezas do espírito, para que um dia venha a dar frutos. Talvez que no fim da vida, num
momento de revelação, a venha a agarrar, mas agora a ideia escapa-se-me por entre as mãos. Por cada ideia que consigo agarrar, são mil as que me escapam. Quebram-se;
caem sobre mim. “As linhas e as cores sobrevivem”, por isso...
Bocejo. Estou cansado de sensações. Estou cansado devido à tensão e ao tempo – vinte e cinco minutos, meia hora – que passei a sós, fora da máquina. Sinto-me
entorpecido. Como estilhaçar esta apatia que em nada honra o meu coração compassivo? Existe mais gente a sofrer – são muitos os que o fazem. O Neville deve estar
a sofrer. Amava o Percival. Porém, já não consigo suportar extremos; quero alguém com quem possa rir, com quem possa bocejar, com quem possa recordar o modo como
ele coçava a cabeça, alguém de quem ele gostasse e com quem se sentisse à vontade (não pode ser a Susan, pois ele amava-a, mas antes a Jinny). Para mais, poderei
penitenciar-me no seu quarto. Poderei perguntar-lhe: “Ele contou-te que certo dia me recusei a acompanhá-lo a Hampton Court?”. São estes os pensamentos que me farão
acordar sobressaltado a meio da noite – os crimes pelos quais nos vemos obrigados a fazer penitência todos os dias; que certa vez me recusei a ir com ele a Hampton
Court.
Mas agora quero voltar a sentir-me rodeado pela vida, por livros e pequenos ornamentos, e também pelos sons habituais feitos pelos mercados a apregoar as suas
mercadorias. Depois desta revelação, quero repousar a cabeça e fechar os olhos.
Assim, vou descer as escadas, apanhar o primeiro táxi que encontrar, e seguir para casa da Jinny.
– Há ali uma poça – disse Rhoda –, e não a consigo atravessar. Escuto o ruído da mó, que me chega vindo de um ponto a escassos centímetros da minha cabeça.
O vento ruge quando me bate no rosto. Todas as formas palpáveis da vida me abandonaram. Serei sugada pelo corredor eterno se não conseguir agarrar nada de sólido.
Sendo assim, em que poderei tocar. Que tijolo, que pedra, me possibilitará regressar ao meu corpo em segurança?
A sombra caiu e a luz incide de forma oblíqua nas coisas. A figura que antes estava envolta em beleza, não passa agora de um objecto arruinado. A figura que
antes se encontrava no bosque onde as colunas se juntavam não passa agora de destroços. Foi isso que lhe disse quando todos afirmaram amar a sua voz, os sapatos
velhos que usava, e os momentos em que se juntavam.
Preparo-me para descer Oxford Street e enfrentar um mundo iluminado pelos relâmpagos; verei os ramos dos carvalhos, até então floridos, quebrarem-se e adquirirem
uma coloração avermelhada. Irei até Oxford Street comprar meias para ir a uma festa. Farei as coisas do costume iluminada pelo brilho dos relâmpagos. Colherei violetas,
farei com elas um ramo e entregá-las-ei ao Percival. Serão a prenda que lhe darei. Reparem agora no que ele me ofereceu. Reparem na rua agora, depois de o Percival
ter morrido. Os alicerces das casas são de tal maneira fracos, que estas podem ser arrastadas pela mais ligeira brisa. Semelhantes a mastins sangrentos, os automóveis
passam por nós a correr e a rugir. Estou só num mundo hostil.
O rosto humano é hediondo. As coisas estão como eu gosto. Quero que a violência e a publicidade deslizem pelas ruas como pedras durante uma avalancha. Gosto
das chaminés das fábricas, das gruas e dos camiões. Gosto deste desfilar incessante de rostos deformados, indiferentes. Estou farta da beleza; estou farta da privacidade.
Cavalgo as ondas e afundar-me-ei sem que haja alguém para me salvar.
Pelo simples facto de ter morrido, o Percival deixou-me este presente, revelou-me este terror, fez-me passar esta humilhação – rostos e mais rostos, sucedendo-se
como pratos de sopa servidos por moços de cozinha; rudes, gananciosos, vulgares; os olhos postos nas montras das lojas; cobiçando, varrendo e destruindo tudo. Até
mesmo o nosso amor se tornou impuro depois de ter sentido o contacto dos seus dedos sujos.
Cá está a loja onde se vendem meias. Chego mesmo a acreditar que a beleza está outra vez em movimento. Ouço-a sussurrar ao longo dos corredores, através das
rendas, respirando por entre os cestos de fitas coloridas. Afinal, sempre existem nichos protectores gravados no coração da tempestade; refúgios silenciosos onde
nos podemos esconder da verdade ocultando-nos sob as asas da beleza. A dor fica como que suspensa quando vejo uma rapariga abrir uma gaveta no maior dos silêncios.
É então que fala. O som desperta-me. A sua voz transporta-me ao fundo do mar. Lá, por entre as algas, vejo a inveja, o ciúme, o ódio e o desprezo rastejarem como
caranguejos por sobre a areia. São estes os nossos companheiros. Pagarei a conta, só então partindo com o embrulho que me pertence.
Estou em Oxford Street. Aqui se concentram o ódio, a inveja, e também a indiferença, precipitando-se depois contra a fachada daquilo a que chamamos vida. O
certo é que acabam por nos acompanhar. Pensemos nos amigos com quem nos sentamos para jantar. Vem-me à ideia o Louis, a ler a página desportiva de um qualquer jornal
da tarde, cheio de medo de cair no ridículo; um snob. Se lhe submetêssemos, acabaria por mandar em nós. A melhor forma que encontrou para mitigar a dor provocada
pela morte do Percival é olhar fixamente para o galheteiro, para lá dos prédios, até nada mais ver para além do céu. Enquanto isso, até nada mais ver para além do
céu.
Enquanto isso, e de olhos vermelhos, o Bernard afunda-se numa poltrona. Acabará por puxar do bloco-notas: escreverá o seguinte na letra M: “Frases para serem
usadas por ocasião da morte de amigos”. A Jinny, atravessando a sala a dançar, irá sentar-se no braço da poltrona em que o Bernard se encontra e perguntar-lhe-á:
“Ele amava-me? Mais do que à Susan?” Esta última, noiva de um agricultor da sua terra, olhará para o telegrama durante alguns segundos sem deixar de segurar o prato
que tem numa das mãos; depois, com o tornozelo, fechará a porta do forno. O Neville, depois de ter chorado durante algum tempo frente à janela, acabará por ver através
das lágrimas e perguntar: “Quem está a passar lá fora?”
– “Qual o rapaz mais belo que por aí anda?”
É esta a homenagem que presto ao Percival; um ramo de violetas escuras, murchas.
Assim sendo, para onde ir? Talvez que para algum museu onde existam anéis dentro de redomas de vidro, armários e vestidos usados por rainhas. Ou deverei antes
ir para Hampton Court e ficar a olhar para as paredes vermelhas, os pátios e toda aquela massa compacta de teixos que projectam na erva e nas flores as suas sombras
negras e em forma de pirâmide?
Será lá que recuperarei o sentido de beleza, impondo ordem na minha alma atormentada? Ao fim e ao cabo, que se pode fazer quando se está só? Limitar-me-ia
a permanecer na erva vazia e a dizer: “As gralhas voam; alguém passa transportando uma mala; o jardineiro empurra um carrinho de mão”. Ficaria numa fila, sujeita
a sentir o cheiro a suor dos outros e a apanhá-lo como que por contágio. Seria comprimida contra as pessoas como se fosse um rolo de carne comprimido contra outros
rolos de carne.
Vejo um salão onde se paga para entrar e onde se pode escutar música por entre grupos de gente sonolenta que até aqui se deslocou nesta tarde quente, depois
do almoço. Comemos carne e pudim em quantidade suficiente para sobreviver durante uma semana sem tocar nos alimentos. É por isso que nos juntamos aos magotes e nos
recostamos contra o fundo de qualquer coisa que nos transporte. Com todo o decoro e dignidade – por baixo dos chapéus, temos madeixas bem penteadas de cabelo branco;
sapatos elegantes; malinhas de mão, rostos bem escanhoados; aqui e ali vêem-se alguns bigodes militares. Não foi permitido o mais pequeno grão de poeira no nosso
pano de primeira qualidade. Sentamo-nos a abrir os programas e a cumprimentar os amigos. Parecemos morsas empoleiradas nas rochas. Somos como corpos demasiado pesados
para seguir rumo ao mar. Imploramos que uma onda nos levante, mas somos demasiado pesados e entre nós e o mar existe uma vasta extensão de terreno coberta de seixos.
Lá nos vamos deixando ficar, enfartados de tanta comida e entorpecidos pelo calor. É então que, inchada mas envergando num traje de cetim escorregadio, uma sereia
verde resolve vir em nosso socorro. Morde os lábios, assume um ar de intensidade, insufla-se e eleva-se nos ares quase que no mesmo instante, tal como se tivesse
visto uma maçã, e o som por ela emitido, “Ah!” fosse uma flecha.
Sei de uma árvore que foi cortada ao meio por um machado; a seiva ainda está quente; a casca é percorrida por muitos sonos. “Ah!”, gritou uma mulher ao amante,
inclinando-se da janela, em Veneza. “Ah, ah!”, gritou, apenas para o voltar a fazer: “Ah!”. Brindou-nos com um grito, e apenas com um grito. Porém, qual o significado
de um grito? É então que chegam os homens-escaravelhos com os seus violinos; esperam; contam; acenam; baixam os arcos. Ouvem-se então murmúrios e gargalhadas. Lembramo-nos
então da dança das oliveiras e da grande quantidade de línguas faladas pelas suas folhas cinzentas sempre que uma qualquer sereia aparece na praia, a mordiscar um
qualquer raminho.
Semelhanças, semelhanças e ainda mais semelhanças – mas, afinal, que será que se oculta por trás da aparência das coisas? Agora, depois de o raio ter fulminado
a árvore, de o ramo florido se ter abatido no chão, e de o Percival (pelo simples facto de estar morto) me ter legado tudo isto, talvez agora tenha chegado o momento
de analisar a questão. Ali está um quadrado; ali está um rectângulo. Os músicos pegam no quadrado e colocam-no no rectângulo. Fazem-no com bastante precisão; ficamos
com a ideia de que não podiam ter feito melhor. Pouco é deixado de fora. A estrutura torna-se visível; registra-se agora o começo; não somos nem tantos nem tão mesquinhos;
construímos triângulos e colocamo-los em cima de quadrados. É este o nosso triunfo; é este o nosso consolo.
A doçura própria desta alegria escorre pelas paredes da minha mente, libertando a compreensão. “Não vagueis mais”, digo, “chegaste ao fim”. O rectângulo foi
colocado por cima do quadrado; a espiral está no topo. Fomos transportados por sobre os seixos até atingirmos o mar. Os músicos estão de volta. Contudo, desta vez
estão a fazer carretas. Deixaram de se mostrar tão janotas e joviais como antes. Acabarei por partir.
Esta tarde, farei uma peregrinação. Irei a Greenwich. Sem revelar qualquer espécie de medo, entrarei em eléctricos e autocarros. À medida que descemos Regent
Street e vou sendo atirada ora contra esta mulher ora contra este homem, o facto não me irrita nem me ultraja. Há um quadrado em cima de um rectângulo. Cá estão
as ruas pobres, onde é costume regatear nos mercados; onde todo o tipo de ferro, lingueta e parafuso é posto de lado, e onde as pessoas se movem pelos campos como
que em enxames, beliscando carne crua com os dedos grossos. A estrutura é bem visível. Acabamos por a transformar num lugar para habitar.
São então estas as flores que crescem nos campos de erva dura onde as vacas pastam, batidas pelo vento, deformadas sem frutos nem botões. É isto que trago,
é isto que arranquei pelas raízes do passeio de Oxford Street, tu, o meu pequeno ramo de violetas baratas. Agora, sentada no eléctrico, vejo mastros por entre as
chaminés; lá está o rio; lá estão os navios que partem para a Índia. Caminharei junto ao rio. Percorrerei este aterro onde um velhote lê o jornal que se encontra
por detrás de um vidro. Percorrerei este terraço e verei os navios curvando-se ao sabor da maré. Há uma mulher no convés e um cão a ladrar em seu redor. A saia e
o cabelo dela são batidos pelo vento; vão a caminho do mar; abandonam-nos; com eles levam este entardecer estival. Resignar-me-ei; acabarei por me perder. Acabarei
por soltar o meu tão reprimido desejo de ser gasta, consumida. Galoparemos juntos por sobre colinas desertas onde as andorinhas mergulham as asas nos lagos e os
pilares se mantêm direitos. E é contra a onda que bate com força na praia, é contra a onda que enche de espuma branca os cantos mais recônditos do mundo, que atiro
as minhas violetas, a minha oferta ao Percival.
O Sol deixara de estar no meio do céu. A luz incidia na terra de forma oblíqua. Aqui, era a vez de um cantinho de nuvem se incendiar, de pronto se transformando
numa ilha incandescente onde nenhum pé seria capaz de poisar. Aos poucos, todas as nuvens se deixavam apanhar pela luz, o que fazia com que as ondas se iluminassem
com setas enfeitadas de penas, as quais caíam de forma desordenada no azul. O calor queimava as folhas mais altas das árvores, que murmuravam em surdina ao compasso
da brisa suave. As aves estariam imóveis se, de vez em quando, não virassem as cabeças de um lado para o outro. Já não cantavam. Era como se o sol do meio-dia as
tivesse sufocado, impedindo o som de sair. A borboleta poisou numa cana por alguns instantes, apenas para se voltar a lançar nos ares. O zumbido que se ouvia à distância
dava a sensação de ser provocado pelo bater de asas que ora se elevavam ora se baixavam no horizonte. A água do rio mantinha os contornos de tal forma fixos, que
era como se estes fossem redomas de vidro. Contudo, o vidro oscilou e as canas soltaram-se. Arquejando, de cabeça baixa, o gado caminhava pelos campos, movendo-se
a custo. Pararam de cair gotas de água no balde que se encontrava perto da casa, tal como se estivesse cheio. Foi então que caíram uma, duas, três gotas, devagar,
sem pressas.
As janelas revelavam de forma arbitrária pontos luminosos, por exemplo, a esquina de um ramo, ao que se seguia um qualquer espaço de claridade pura. A cortina
apresentava uma tonalidade avermelhada, e, dentro do quarto, lâminas de luz incidiam nas cadeiras e nas mesas, abrindo fendas naquelas superfícies lacadas e polidas.
A jarra verde adquiria dimensões monstruosas. A luz, empurrando a escuridão à sua frente, derramava-se em profusão por todos os cantos e saliências, ao mesmo tempo
que, e de forma algo paradoxal, amontoava as trevas de forma anárquica.
As ondas formavam-se, curvavam-se e batiam com força na areia, fazendo voar pedras e seixos. Traziam as rochas e a espuma, elevando-se nos ares, espalhavam-se
pelas paredes de uma rocha que antes estivera seca, ao passo que, em terra, deixavam atrás de si um rasto composto por pequenas poças onde alguns peixes perdidos
abanavam as barbatanas sempre que uma nova onda se aproximava.
– Já assinei o meu nome por mais de vinte vezes – disse Louis. – Eu, de novo eu, e outra vez eu. Claro, firme e inequivocamente, lá está ele, o meu nome. Também
eu tenho contornos definidos e sou inequívoco. Todavia, guardo em mim um vasto legado constituído por todo o tipo de experiências.
Sou como um verme que abriu caminho à dentada através da madeira de um velho carvalho. Mesmo assim, esta manhã sou compacto, consegui reunir todos os pedacinhos.
O Sol brilha e o céu está limpo. Contudo, o meio-dia não é marcado nem por uma grande chuvada nem por uma qualquer claridade especial. Trata-se da hora em
que Miss Johnson me vem trazer a correspondência. Gravo o meu nome nestas páginas em branco. O sussurro das folhas, a água a escorrer pelas goteiras, abismos verdes
manchados de dálias ou zínias; eu, ora duque ora Platão, amigo de Sócrates; o vaguear de negros e asiáticos viajando para este, oeste, norte e sul; a procissão eterna:
as mulheres vão descendo o Strand transportando as suas carteiras, da mesma forma que antes carregavam as ânforas para o Nilo; todas as folhas dobradas em muitas
partes, as quais correspondem a toda a minha vida, condensam-se na assinatura que gravo no papel. Sou agora um adulto; enfrento o sol e a chuva de cabeça erguida.
Tenho de me deixar cair com a força de uma machadinha e cortar o carvalho com um único golpe, pois, se não o fizer, se me desviar e perder tempo a olhar de um lado
para o outro, cairei como se fosse um floco de neve derretendo-me.
Estou semi-apaixonado pela máquina de escrever e pelo telefone. Consegui fundir todas as vidas que já vivi através de letras, cabos e ordens emitidas de forma
delicada através do telefone, e que seguem para Paris, Berlim, Nova Iorque. Através da assiduidade e do poder de decisão que me caracterizam, consegui inserir estas
linhas no mapa que une as diferentes partes do mundo.
Adoro chegar ao escritório às dez em ponto; adoro o brilho avermelhado do mogno escuro; adoro a secretária e os seus contornos bem definidos, bem assim como
o modo como as gavetas deslizam em silêncio. Adoro o telefone com os lábios sempre prontos a receber os meus sussurros; o calendário de parede; a agenda. Há quem
chegue sempre à mesma hora: Mr. Prentice às quatro; Mr. Eyres às quatro e trinta.
Gosto que me peçam para ir ao gabinete de Mr. Burchard prestar-lhe contas dos nossos negócios na China. Espero vir a herdar um cadeirão e um tapete persa.
Pressiono o globo com os ombros; faço a escuridão girar à minha frente, levando o comboio às mais distantes partes do mundo, onde antes reinava o caos. Se assim
continuar, transformando o caos em ordem, acabarei por me encontrar nos mesmos locais onde já antes estiveram Chatham, Pitt, Burk, e Sir Robert Peel. É assim que
elimino certas nódoas e apago velhas ofensas: a mulher que me deu a bandeira que estava no cimo da árvore de Natal; a minha pronúncia; as pancadas e as outras torturas;
os fanfarrões; o meu pai, um banqueiro de Brisbane.
Li o meu poeta preferido à mesa do restaurante, e, sempre a mexer o café, escutei os que, nas outras mesas, faziam apostas, e vi as mulheres hesitar ao se
aproximarem do balcão. Afirmei que nada devia ser irrelevante, até mesmo um pedaço de papel castanho caído ao chão por acaso. Disse que as suas movimentações deviam
ter um fim em vista; que deviam ganhar duas libras semanais às ordens de um mestre ilustre; que, quando chega a noite, somos envolvidos por uma qualquer mão, um
qualquer manto. Quando tiver cicatrizado estas feridas e compreendido estas monstruosidades de modo a que não necessitem nem de pretextos nem de desculpas, que nos
obrigam a despender tantas energias, devolverei às ruas e aos restaurantes aquilo que perderam quando caíram nestes tempos difíceis e se quebraram contra estas praias
rochosas. Reunirei algumas palavras e forjarei à nossa volta um anel de aço.
Todavia, agora não tenho um momento a perder. Aqui, não existem intervalos, sombras formadas à custa de folhas tremulas, ou sala onde, na companhia de um amante,
nos possamos recolher do sol e gozar a brisa fresca da noite. Temos o peso do mundo aos ombros; é pelos nossos olhos que ele existe; se pestanejarmos ou olharmos
de esguelha ou nos virarmos para lembrar aquilo que Platão disse ou Napoleão conquistou, estamos a ser desonestos para com o mundo. É assim a vida. Mr. Prentice
às quatro; Mr. Eyres às quatro e trinta. Gosto de ouvir o elevador deslizar e ouvir o baque por ele provocado quando pára no meu piso, bem assim com os pés dos homens
responsáveis que percorrem os corredores. É assim, através da combinação das nossas forças, que enviamos navios repletos de lavatórios e ginásios para as partes
mais remotas do globo.
Temos aos ombros o peso do mundo. É assim a vida. Se continuar, herdarei uma cadeira e um tapete; uma quinta no Surrey cheia de estufas onde crescerão coníferas,
melões, ou arbustos de tal forma raros, que despertarei a inveja de todos os outros comerciantes.
Apesar de tudo, continuo a manter o meu sótão. É aí que abro o meu livrinho do costume; é aí que fico a ver a chuva brilhar nas teias, emitindo uma luz semelhante
à dos impermeáveis dos polícias; é aí que vejo os vidros partidos existentes nas casas dos pobres; uma qualquer prostituta mirando-se num espelho partido enquanto
retoca a maquilagem na esquina onde se encontra; é aí que a Rhoda às vezes aparece. É que eu e ela somos amantes.
O Percival morreu, (morreu no Egipto, morreu na Grécia, todas as mortes são apenas uma). A Susan tem filhos; o Neville sobe cada vez mais alto. A vida vai
seguindo o seu curso. As nuvens que pairam sobre as casas nunca são as mesmas. Faço isto, faço aquilo, apenas para voltar a fazer isto e depois aquilo. Unindo-nos
e separando-nos, assumimos formas diferentes, construímos diferentes padrões. No entanto, se não fixar estas impressões no placar, bem posso dizer adeus às muitas
personalidades que em mim se transformam numa só, existem aqui e agora, e não em manchas e listras, semelhantes a farrapos de neve nas montanhas distantes; pergunto
a Miss Johnson a sua opinião sobre este ou aquele filme, aceito a chávena de chá que me estava destinada e o biscoito de que mais gosto; se não fizer nada disto,
então serei como um floco de neve, acabando por derreter.
Porém, as seis horas acabam por chegar e saúdo o encarregado com uma espécie de continência, mostrando-me sempre demasiado efusivo, tal é o meu desejo de ser
aceite; e luto contra o vento, o casaco apertado até cima, os maxilares azuis devido ao frio e as lágrimas a correrem-me pelos olhos. Gostaria que uma qualquer dactilógrafa
se sentasse ao meu colo; acho que o meu prato favorito é bacon com fígado. Sinto-me em condições de ir vaguear para junto do rio, para aquelas ruas estreitas onde
os bares abundam e ao fundo se vêem as sombras dos navios e as mulheres a brigar. É aqui, digo, depois de ter recuperado a sanidade, que Mr. Prentice vem às quatro
e Mr. Eyres às quatro e trinta. O machado tem de acertar na madeira; o carvalho tem de ser atingido bem no centro. Sinto o peso do mundo nas costas. Aqui está a
caneta e o papel; coloco o nome nas folhas que se encontram no cesto de arame, eu, eu, e eu de novo.
– O Verão e o Inverno acabam sempre por chegar – disse Susan. – As estações vão passando. A pereira enche-se de frutos que acabam por cair. As folhas mortas
acumulam-se na valeta. Contudo, o vapor quase cobriu a janela. Estou sentada junto à lareira a ver a chaleira ferver. Vejo a pereira através dos sulcos existentes
no vapor que encheu a janela.
Dorme, dorme, cantarolo, quer seja Verão ou Inverno, Maio ou Novembro. Dorme, canto – eu, que não tenho ouvido para a música e as únicas melodias que ouço
são os sons rústicos dos cães a ladrar, das campainhas a tocar, e das rodas a ranger no cascalho. Canto a minha canção junto à lareira como se fosse uma concha velha
murmurando na praia. Dorme, dorme, digo, alertando com o tom da minha voz todos os que agitam as vasilhas do leite, disparam contra as gralhas, matam os coelhos,
ou, de uma forma ou de outra, trazem o choque da destruição até junto deste berço frágil, suportado por membros pouco fortes, coberto por uma cortina cor-de-rosa.
Perdi a indiferença, o olhar vazio, os olhos em forma de pêra que viam até às raízes. Deixei de ser Janeiro, Maio ou qualquer outra estação, estando como que
transformada numa teia muito fina que cobre o berço por completo, envolvendo os membros delicados do bebê com uma espécie de casulo constituído pelo meu próprio
sangue. Dorme, digo, e sinto nascer em mim uma violência sombria, arisca, capaz de me fazer derrubar com um só golpe qualquer intruso que entrasse nesta divisão
para acordar o que está a dormir.
Tal como a minha mãe, que morreu com um cancro, passo o dia a percorrer a casa com o avental posto e os chinelos calçados. Deixei de distinguir o Verão do
Inverno através das coisas tão simples como a erva que cobre a charneca ou a flor da urze. Sei-o apenas pelo vapor que se condensa na janela ou pelo gelo que a cobre.
Inclino-me quando ouço o canto da cotovia elevar-se nos ares; alimento o bebê. Eu, que costumava caminhar por entre as faias vendo as penas do gaio tornarem-se cada
vez mais azuis à medida que caíam, que me cruzava com os pastores e os vagabundos, que observava a mulher agachada junto a uma carroça caída na valeta, percorro
agora os quartos de espanador na mão. Dorme, digo, desejosa que o sono caia como um cobertor e cubra estes membros frágeis; exigindo à vida que recolha as garras
e prossiga viagem, transformando o corpo numa caverna, num abrigo aquecido onde o meu bebê possa dormir. Dorme, digo, dorme. Ou então, e como alternativa, vou até
à janela, observo com atenção o ninho das gralhas e a pereira. “Os olhos dele continuarão a ver mesmo depois de os meus se terem fechado”, penso. Misturar-me-ei
com eles para lá do corpo que possuo e verei a Índia. Ele regressará a casa carregado de troféus que colocará a meus pés. Os meus haveres aumentarão à sua custa.
Contudo, nunca me lembro de madrugada para ver as gotas púrpuras de orvalho repousando nas folhas das couves, as gotas vermelhas de orvalho das rosas. Não vejo o
cão a farejar em círculo, nem me deito à noite vendo as folhas ocultar as estrelas, e estas moverem-se e as folhas permanecerem imóveis. Ouço chamar o carniceiro;
o leite tem de ser colocado à sombra para que não azede.
Dorme, digo, dorme, enquanto a chaleira ferve e o vapor que dela se eleva se vai tornando mais espesso, subindo num jacto a partir do bico. É assim que a vida
me enche as veias. É assim que a vida me escorre pelos membros. É assim que vou avançando até quase poder gritar, enquanto, sempre a abrir e a fechar as coisas,
vejo o Sol nascer e pôr-se.
Chega. Estou prestes a sufocar de tanta felicidade natural. Contudo, sei que não vou ficar por aqui. Terei mais filhos; mais berços; mais cestos na cozinha
e presuntos a secar; cebolas a brilhar; e talhões de alfaces e batatas. Sinto-me vogar como uma folha ao sabor da tempestade; ora roçando a erva úmida ora sendo
arrastada pelos ares. Estou prestes a sufocar de felicidade natural, e por vezes desejava que este sentimento de realização esmorecesse, que o peso da casa adormecida
deixasse de existir (e que tanto se faz sentir quando nos sentamos a ler), e que eu voltasse a ser o centro da trama que a minha agulha vai tecendo. A lâmpada como
que acende uma fogueira na janela. Há um fogo a arder no coração da hera. Vejo uma rua iluminada nas sempre-verdes. Ouço o ruído do trânsito nos sons provocados
pelo vento; vozes; gargalhadas; e também a Jinny que abre a porta e grita: “Vem! Vem!”.
Contudo, som algum interrompe o silêncio da nossa casa, onde os campos suspiram junto à porta. O vento passa através dos ulmeiros; uma borboleta nocturna vai
bater de encontro à lâmpada; uma vaca muge; um qualquer som infiltra-se entre as vigas, e eu quase que enfio a cabeça através do buraco da agulha e murmuro: “Dorme”.
– Chegou a hora – disse Jinny. – Acabamos de nos conhecer e juntámo-nos. Vamos falar, vamos contar histórias? Quem é ele? Quem é ela? Sinto uma curiosidade
infinita e não sei o que vem a seguir. Se tu, a quem nunca vi antes, me dissesses: O comboio parte de Piccadilly às quatro, nem sequer perderia tempo a fazer a mala,
partindo o mais depressa possível.
É melhor sentarmo-nos aqui, por baixo das flores, no sofá que está junto ao quadro. Vamos decorar a nossa árvore de Natal com factos e mais factos. As pessoas
não demorariam muito tempo a partir; é melhor agarrá-las enquanto é tempo. Dizes tu que aquele homem ali, junto à papeleira, vive rodeado de jarras de porcelana.
Partir uma delas é deitar milhares de libras pela janela. Apaixonou-se por uma rapariga em Roma e ela deixou-o. É daí que vem a fixação pelas jarras, velharias encontradas
em antiquários ou desenterradas nas areias do deserto. E, dado que a beleza precisa ser diariamente estilhaçada para permanecer bela, a vida daquele homem é algo
de estático num mar de porcelana. Mesmo assim, não deixa de ser estranho, pois, e enquanto jovem, chegou a sentar-se no solo enlameado e a beber rum com os soldados.
Precisamos ser rápidos e somar os factos com destreza fixando-os com um simples torcer de dedos. Ele não pára de fazer vénias. Chega a fazê-las frente às azáleas.
Fá-lo mesmo frente a uma mulher bastante idosa, pois ela usa brincos de diamante, e, exibindo o estatuto social que ocupava através de uma carruagem puxada por um
pônei, vai dizendo quem merece ser ajudado, que árvore deverá ser cortada, e quem irá aparecer amanhã. (Devo dizer-te que durante todos estes anos, e já passei dos
trinta, vivi em equilíbrio precário, mais ou menos como uma cabra montesa que vai saltando de rocha em rocha. Não fico muito tempo no mesmo sítio; e, muito embora
não me ligue a ninguém em particular, basta levantar o braço para que venham ter comigo.) Aquele homem é juiz; o outro é milionário, e aquele, o que tem o olho de
vidro, matou a governanta quando tinha dez anos, espetando-lhe uma flecha no coração. Depois disso, atravessou desertos transportando mensagens, participou em várias
revoluções, e agora recolhe o material para escrever um livro sobre a família da mãe, há muito estabelecida em Norfolk. Aquele sujeito de queixo azul tem a mão direita
mirrada. Porquê? Não sabemos. Aquela mulher – segredas-me discretamente, a que tem os brincos de pérolas –, foi em tempos a chama que iluminou a vida de um dos nossos
estadistas. Agora, e desde que ele morreu, vê fantasmas, lê a sina, e adoptou um jovem de pele escura, a quem chama o Messias. Aquele homem com os bigodes caídos,
tal como os de um oficial de cavalaria, levou uma vida da maior devassidão (está tudo escrito num qualquer livro de memórias) até que certo dia encontrou um desconhecido
no comboio, que, e no decorrer da viagem entre Edimburgo e Carlisle, o converteu limitando-se-lhe a ler a Bíblia.
E é assim que, em apenas alguns segundos, ágeis, perspicazes, deciframos os hieróglifos escritos no rosto dos outros. Aqui, nesta sala, somos como conchas
atiradas com violência contra a praia.
A porta não pára de se abrir. A sala não pára de se encher com conhecimento, angústia, vários tipos de ambição, uma grande dose de indiferença, e também algum
desespero. Dizes que juntos poderíamos construir catedrais, estabelecer políticas, condenar homens à morte, e administrar os assuntos de várias repartições públicas.
O grau de experiência que partilhamos é bastante profundo. Possuímos filhos de ambos os sexos, os quais educamos, tratamos quando estão com varicela, e criamos para
que possam herdar as nossas casas. De uma maneira ou de outra, todos trabalhamos na construção desta sexta-feira, alguns indo aos tribunais, outros ao jardim infantil;
outros ainda marchando e agrupando-se quatro a quatro. Há milhões de mãos ocupadas a costurar, a erguer ripas carregadas de tijolos. A actividade não tem fim. Escusado
será dizer que tudo recomeça amanhã; amanhã construiremos o sábado. Há quem vá apanhar o comboio para a França; outros embarcarão para a Índia. Há os que nunca mais
voltarão a entrar nesta sala. Um de nós pode morrer esta noite. O outro talvez conceba uma criança. Estar-nos-á reservado qualquer tipo de construção, política,
empreendimento, quadro, poema, filho, fábrica. A vida vem; a vida vai; somos nós quem a faz. Assim o dizes.
Mas nós, que vivemos no corpo, vemos os contornos das coisas com os olhos da imaginação. Vejo rochas iluminadas pelo sol. Não posso pegar nestes factos e colocá-los
numa gruta, fundindo as diferentes tonalidades que os caracterizam, amarelos e azuis, por exemplo, até os transformar numa única substância. Não posso permanecer
sentada por mais tempo. Preciso de me levantar e partir. O comboio deve estar prestes a abandonar o Piccadilly. Deixo cair todos estes factos – diamantes, mãos enrugadas,
jarras de porcelana – como um qualquer macaco deixa cair coco das patas. Sou incapaz de te dizer se a vida é isto ou aquilo. Vou juntar-me a esta multidão heterogênea.
Vou ser empurrada; atirada para cima e para baixo, semelhante a um navio no mar alto.
O certo é que agora sou chamada pelo meu próprio corpo, um companheiro que não pára de enviar sinais: “Não”, escuro e desagradável, e o dourado “Vem”, os quais
se sucedem rapidamente. Alguém se mexe. Terei levantado o braço? Terei olhado. Terá o meu lenço amarelo com os morangos vermelhos esvoaçado e emitido sinais? Ele
destacou-me do muro.
Segue-me. Estou a ser perseguida através da floresta. Tudo é arrebatado, tudo é nocturno, e os papagaios, empoleirados entre os ramos, soltam os gritos que
os caracterizam. Não podia ter os sentidos mais alerta. Sinto o quanto é áspera a cortina que empurro; sinto o gradeamento de ferro frio e a sua pintura estalada
sempre que nele poiso a mão. Estamos ao ar livre. A noite como que se abre; a noite, povoada de borboletas nocturnas; a noite, ocultando amantes preparados para
as maiores aventuras. Sinto o cheiro das rosas; das violetas; vejo pequenas manchas vermelhas e azuis. O cascalho e a relva vão-se sucedendo por baixo dos meus pés.
As traseiras dos edifícios iluminados erguem-se nos ares não sem alguma culpa. Todo este excesso de luzes faz com que Londres se mostre pouco à vontade. Está na
hora de entoarmos o nosso cântico de amor – Vem, vem, vem. Agora, o sinal dourado que emito assemelha-se a uma borboleta. Canta, canta, canta, exclamo, qual rouxinol
cuja melodia lhe tenha ficado entalada na garganta estreita. Ouço o estalar dos ramos e o entrechocar das hastes tal como se todos os animais da floresta estivessem
a caçar, elevando-se nos ares e mergulhando por entre os espinhos. Um deles acabou de me picar. Houve um que se enterrou bem fundo em mim.
As flores aveludadas e as folhas frescas acalmam-me, como que me ungem.
– Para quê olhar o relógio que está em cima da lareira? – disse Neville. – Sim, o tempo passa. E nós envelhecemos. Contudo, sinto-me bem em estar sentado junto
a ti, eu aqui e tu aí, nesta sala iluminada pelo fogo, em Londres. O mundo foi revistado até ao mais ínfimo pormenor, e nele já nada resta, nem mesmo flores. Repara
na luz vermelha que percorre a cortina dourada. A fruta por ela rodeada cai pesadamente. Cai mesmo junto à tua bota, ao mesmo tempo que te empresta ao rosto uma
moldura vermelha – creio tratar-se da luz da lareira e não da tua cara; creio serem aqueles livros encostados contra a parede; aquilo uma cortina; e isso talvez
um cadeirão. Todavia, quando entras tudo muda. As chávenas e os pires transformaram-se quando aqui chegaste de manhã. Pondo de lado o jornal, pensei que só o amor
faz com que as nossas vidas mesquinhas tenham algum esplendor e valham a pena ser vividas.
Levantei-me. Terminara o pequeno-almoço. Tínhamos todo o dia pela frente, e, dado o tempo estar agradável, atravessamos o parque e fomos até ao cais, descemos
o Strand até chegarmos a St. Paul, e paramos na loja onde comprei o guarda-chuva. Nunca deixamos de conversar, parando de vez em quando para ver as montras. Contudo,
será que isto pode durar? Foi esta a pergunta que fiz quando avistei o leão de Trafalgar Square – foi aí que revi o passado, cena a cena; ali está um ulmeiro, e
é aí que o Percival se encontra. Jurei que para sempre. Foi então que me deixei invadir pelas dúvidas do costume. Apertei-te a mão. Deixaste-me. A descida até ao
metropolitano foi como experimentar a morte. Somos como que separados, dissolvidos, por todos aqueles rostos e também pelo vento oco que parece rugir naqueles corredores
desertos. Sentei-me a observar o meu próprio quarto. Às cinco fiquei a saber que eras infiel. Peguei no telefone e o zumbir estúpido da sua voz a ecoar no quarto
vazio fez com que o coração me caísse aos pés. Foi então que a porta se abriu e tu apareceste. Tratou-se do mais perfeito dos nossos encontros. Porém, estes encontros
e despedidas acabam por nos destruir., Tenho a impressão de que esta sala é central, qualquer coisa escavada na noite eterna. Lá fora, as linhas cruzam-se e intersectam-se,
mas sempre à nossa volta, envolvendo-nos. Estamos num ponto central. Aqui podemos estar em silêncio ou falar sem levantar a voz. “Já reparaste nisto e naquilo?”,
perguntamos. Quando ele disse isto, queria dizer... Ela hesitou, e acredito que tenha mesmo chegado a suspeitar. Seja como for, o certo é que, ontem à noite, nas
escadas, ouvi vozes e um soluço. Tratava-se do fim da relação por eles mantida. É assim que tecemos os mais delicados filamentos em nosso redor, construindo um sistema.
Platão e Shakespeare estão incluídos, o mesmo se passando com uma série de gente obscura, de pessoas sem qualquer importância. Odeio homens que usam crucifixos no
lado esquerdo do colete. Odeio cerimônias, lamentações, e a figura trêmula e triste de Cristo colocada junto a outras figuras tremulas e tristes. Odeio igualmente
a pompa, a indiferença e o ênfase, sempre colocado no local errado, de todas as pessoas que se pavoneiam à luz de candelabros envergando vestidos de noite, estrelas
e condecorações. Há ainda os que urinam contra as vedações ou contra o sol poente nas planícies iluminadas pela luz fraca do Inverno, já para não falarmos do modo
como algumas mulheres se sentam no autocarro, de mãos nas ancas, transportando cestos – são estas as pessoas que nos levam a fazer sinais aos amigos para que as
olhem. Constitui um enorme alívio ter alguém a quem fazer sinais e não pronunciar qualquer palavra. Seguir os carreiros escuros da mente e entrar no passado, visitar
livros, empurrar ramos e arrancar alguns frutos. Então, tu pegas neles e ficas em estado de êxtase. Enquanto isso, eu observo os movimentos descontraídos do teu
corpo e maravilho-me com o à-vontade que os caracteriza, a sua força – o modo como abres as janelas de par em par, e tens a mesma facilidade em mover ambas as mãos.
Mas, infelizmente, a minha mente anda um pouco preguiçosa, cansa-se com facilidade; deixo-me cair exausto; talvez que um pouco enjoado, sempre que alcanço o objectivo
a que me tinha proposto. Caramba! Não pude montar a cavalo na Índia, usar um chapéu colonial e regressar a um bangalô. Sou incapaz de pular, como tu fazes, como
o fazem todos aqueles rapazinhos seminus que, no convés dos navios, se molham mutuamente com as mangueiras. Quero esta lareira, quero esta cadeira. Quero alguém
que se sente a meu lado depois de toda a angústia e correria do dia-a-dia, das suas conversas, esperas e suspeitas. Depois das brigas e reconciliações, preciso de
privacidade – de estar a sós contigo, de fazer calar este tumulto. O certo é que os meus hábitos são tão organizados como os dos gatos. Temos de combater o desperdício
e as deformidades do mundo, as multidões que nele se agitam, ruidosas e apressadas. Temos de usar facas de cortar papel para abrir de forma correcta as páginas dos
livros, atar maços de cartas com fitas de seda verde, e varrer as cinzas com a vassoura da lareira.
Devemos fazer tudo o que nos permita exprobrar o horror da deformidade. O melhor será lermos os escritores que apregoam a austeridade e a severidade romanas;
o melhor será procurarmos a perfeição por entre as areias. Sim, mas o certo é que adoro deixar escapar a virtude e a austeridade dos nobres romanos sob a luz cinzenta
dos teus olhos, das ervas que dançam a compasso com as brisas estivais, e das gargalhadas e gritos dos rapazes que não param de brincar – daqueles rapazes nus que
se molham no convés dos navios, servindo-se para isso de mangueiras. É por isso que, ao contrário do Louis, não busco a perfeição de forma desinteressada. As páginas
apresentam sempre muitas cores; as nuvens passam por sobre elas. Quanto ao poema – é apenas o som da tua voz. Alcibíades, Ájax, Heitor e Percival, todos eles se
encarnam em ti. Adoravam montar, arriscavam a vida em Verão, e também não eram grandes leitores. Todavia, não és Ájax nem Percival. Eles não franziam o nariz nem
coçavam a testa com gestos tão precisos. Tu és tu. É isso que me consola da falta de muitas coisas – sou feio, sou fraco –, da depravação do mundo, do passar da
juventude, da morte do Percival, e de todo um sem-número de amarguras, rancores e invejas. Porém, se houver um dia em que não venhas logo após o pequeno-almoço,
se houver um dia em que, através do espelho, te vir à procura de outro, se o telefone não parar de tocar no teu apartamento vazio, então, depois de ter sentido uma
angústia indescritível, então – pois não há fim para a loucura existente nos corações humanos – procurarei outro; acabando por encontrar alguém parecido contigo.
Entretanto, o melhor será abolirmos o tiquetaque do relógio com um único gesto. Aproxima-te!
O Sol estava agora mais baixo. As ilhas compostas por nuvens haviam ganho em densidade e espalhavam-se frente ao Sol, fazendo com que as rochas escurecessem
subitamente, as algas tremulas perdessem o tom azul que lhes era característico e se tornassem em fios prateados, e as sombras fossem arrastadas pelo mar como farrapos
cinzentos. As ondas haviam deixado de alcançar as poças situadas mais acima, o mesmo se passando em relação à linha escura traçada na praia de forma irregular. A
areia apresentava uma coloração branca semelhante à das pérolas, e era macia e brilhante.
Lá bem no alto, as aves voavam em círculos. Algumas montavam as pregas do vento e nelas se moviam como se fossem um corpo cortado em mil pedaços. Semelhantes
a redes, os pássaros caíam das copas das árvores. Aqui, uma ave solitária dirigia-se para o pântano, acabando por se sentar numa estaca branca, depois do que abria
as asas apenas para as voltar a fechar.
Caíram algumas pétalas no jardim. Lembram conchas poisadas no solo. A folha morta já não se encontra na vedação, tendo antes sido arrastada, ora correndo ora
parando, contra uma qualquer haste. Todas as flores eram iluminadas pela mesma onda de luz e rapidez, semelhante a uma barbatana riscando o espelho verde de um lago.
De vez em quando, uma rajada agitava as folhas para cima e para baixo, até que, com o amainar do vento, estas acabavam por recuperar a sua identidade. As flores,
queimando os discos brilhantes ao sol, espalhavam luz por toda a parte sempre que o vento as agitava, depois do que algumas cabeças demasiado pesadas para se voltarem
a erguer pendiam um pouco.
O sol da tarde iluminava os campos, tingindo as nuvens de azul e os milheirais de vermelho. Os campos pareciam estar cobertos por uma grossa camada de verniz.
Carroças, cavalos, bandos de gralhas – fosse o que fosse que ali se movesse ficava envolvido em ouro. Quando as vacas mexiam as patas, era como se delas se desprendessem
fios de ouro-velho, dando a impressão de terem os cornos envoltos em luz. As vedações estavam cobertas por espigas de milho dourado, as quais haviam sido arrastadas
das carroças desengonçadas que subiam os campos com um ar primitivo, primordial. As nuvens de cabeça redonda nunca se desfaziam, mantendo antes todos os átomos que
as tornavam tão redondas. Agora, ao passarem apanhavam toda uma aldeia na rede por elas formada, depois do que a deixavam de novo em liberdade. Lá longe, por entre
os milhões de grãos de poeira azul acinzentada, via-se arder uma vidraça ou adivinhavam-se os contornos de um campanário ou de uma árvore.
As cortinas vermelhas e as persianas brancas esvoaçavam para dentro e para fora batendo contra o parapeito da janela, e a luz que se escoava e filtrava de
forma irregular possuía um qualquer pigmento castanho e um certo ar de abandono, como se fosse soprada em folgadas contra as cortinas. Neste ponto, fazia com que
uma papeleira se tornasse um pouco mais castanha, enquanto naquele fazia tremer a janela junto à qual se encontrava a jarra verde.
Durante alguns instantes, tudo estremeceu e se curvou devido à incerteza e à ambiguidade, como se uma grande borboleta nocturna que percorresse a sala tivesse
ocultado com as asas a enorme solidez das cadeiras e das mesas.
– E o tempo – disse Bernard – deixa cair a sua gota. A gota que se formou no topo da alma acaba por cair. No topo da minha mente, o tempo deixou cair a sua
gota. Esta caiu a semana passada, quando me estava a barbear. De súbito, com a lâmina na mão, apercebi-me da natureza puramente mecânica do acto que desempenhava
(era a gota a formar-se) e, não sem alguma ironia, dei os parabéns às minhas mãos por conseguirem levar as coisas até ao fim. Barbeia, barbeia, barbeia, disse. Continua
a barbear. A gota caiu. Durante o dia, a intervalos regulares, sentia que o espírito como que viajava até esse espaço vazio, perguntando: “O que se perdeu? O que
terminou?”. Ainda murmurei: “Acabado e bem acabado, acabado e bem acabado”, consolando-me com palavras. As pessoas repararam na expressão vazia do meu rosto e na
inutilidade da conversa. As últimas palavras da frase foram-se apagando. E, quando apertava o casaco e me preparava para ir para casa, disse de forma dramática:
“Perdi a juventude.”
É curioso que, quando ocorre uma crise, há uma frase que insiste em nos vir socorrer, mesmo nada tendo a ver com o caso – trata-se do castigo de viver numa
civilização antiga e munido de um bloco-notas. A gota que caiu nada tinha a ver com o facto de estar a perder a juventude. Esta gota mais não era que o tempo a atingir
um certo ponto. O tempo, que mais não é que um pasto soalheiro coberto por uma luz trêmula, o tempo, que se espalha pelos campos ao meio-dia, fica como que suspenso
num determinado ponto. Semelhante a uma gota que cai de um copo cheio, assim o tempo cai. São estes os verdadeiros ciclos, os verdadeiros acontecimentos. Então,
como se toda a luminosidade da atmosfera tivesse sido retirada, vejo-lhe o fundo vazio. Vejo aqui o que o hábito cobre.
Deixo-me ficar na cama durante dias a fio. Janto fora e não paro de bocejar. Nem sequer me dou ao trabalho de concluir as frases, e as acções que pratico,
por norma tão inconstantes adquirem uma precisão mecânica. Foi numa destas ocasiões que, ao passar por uma agência de viagens e nela tendo entrado, comprei um bilhete
para Roma com a compostura característica das figuras mecânicas.
Encontro-me agora sentado num dos bancos de pedra existentes num dos muitos jardins que rodeiam a cidade eterna, e o homenzinho que se barbeava em Londres
parece-se com um monte de roupas velhas. Até mesmo Londres se desmoronou. A cidade nada mais é que fábricas em ruínas e alguns gasômetros. Ao mesmo tempo, não me
sinto integrado neste ambiente. Vejo padres vestidos de violeta e pitorescas irmãs-de-caridade; reparo apenas no que é exterior. Estou aqui sentado como se fosse
um convalescente, como se fosse um qualquer idiota que só consegue articular palavras compostas por apenas uma sílaba. “O sol é bom”, digo. “O frio é mau.” Semelhante
a um insecto poisado no cimo da terra, sinto-me andar às voltas, e, aqui sentado, quase podia jurar ser capaz de identificar o movimento de rotação do planeta. Não
consigo seguir o caminho oposto ao da terra. Tenho o pressentimento de que se prolongasse esta sensação por mais algumas polegadas acabaria por ir parar a um qualquer
território estranho. Porém, não sou muito arrojado. Nunca quero prolongar estes estados de desprendimento; não gosto deles; desprezo-os. Não quero transformar-me
em alguém capaz de se sentar no mesmo sítio durante cinquenta anos a viver em função do seu umbigo. Prefiro antes transformar-me numa carroça própria para transportar
vegetais, e ser arrastado por caminhos pedregosos.
A verdade é que não pertenço ao gênero dos que se satisfazem com uma pessoa ou com o infinito. Tanto um quarto fechado como o céu me dão as mesmas náuseas.
O meu ser apenas brilha quando todas as suas facetas se expõem aos olhares de muita gente. Encho-me de buracos quando o público me falta, diminuindo de volume como
se fosse um pedaço de papel queimado. “Oh, Mrs. Moffat, Mrs. Moffat”, digo, “venha varrer tudo isto”. As coisas escaparam-se-me por entre os dedos. Sobrevivi a certos
desejos; perdi amigos, alguns levados pela morte – o Percival – outros por não me ter dado ao trabalho de atravessar a rua. Não sou tão dotado como em tempos pensei.
Certas coisas estão para lá do meu alcance. Nunca conseguirei entender os problemas filosóficos mais difíceis. Roma é o limite da minha viagem. Semelhante a uma
gota adormecida, sou por vezes sobressaltado pela ideia de que nunca verei os selvagens do Taiti arpoando peixes à luz dos lampiões, nem mesmo leões a saltar na
selva e homens nus a comer carne crua. Nunca aprenderei russo ou lerei os Vedas. Nunca voltarei a ir bater com força contra o marco-postal. (Contudo, e devido à
violência do embate, a minha noite é magnificamente iluminada com algumas estrelas.) Todavia, e à medida que vou pensando, a verdade está cada vez mais próxima.
Foram muitos os anos em que murmurei com complacência: “Os meus filhos... a minha mulher... a minha casa... o meu cão”. Assim que abria a porta, deixava-me levar
por todos esses rituais familiares, envolvendo-me no seu calor. Porém, esse véu carinhoso caiu. Deixei de ter sentimentos de posse. (Nota: em termos de refinamento
físico, uma lavadeira italiana ocupa a mesma posição que a filha de um qualquer duque inglês.) Mas deixa-me pensar. A gota cai; atingiu-se outra etapa. Etapa após
etapa. E por que razão deveriam estas terminar? E até onde nos levam elas? A que conclusão? O certo é que envergam trajes solenes. Quando confrontados com estes
dilemas, os crentes consultam estes indivíduos trajados de violeta e aspecto sensual que por mim vão passando. Pela parte que nos toca, não gostamos de professores.
Se um homem se levantar e disser: “Olhem, esta é a verdade”, nesse mesmo instante, e à laia de pano de fundo, vejo um gato cor de areia a roubar uma posta de peixe.
“Repare, esqueceu-se do gato”, digo. Era por isso que, na escola, quando estávamos na capela mal iluminada, a visão do crucifixo usado pelo professor tanto irritava
o Neville. Eu, que estou sempre distraído, quer seja a olhar para os gatos ou para aquela abelha que não pára de zumbir em torno do bouquet que Lady Hampton insiste
em manter colado ao nariz, de pronto invento uma história que acaba por obliterar os ângulos do crucifixo. Inventei milhares de histórias. Enchi inúmeros blocos
de apontamentos com frases prontas a serem usadas assim que encontrasse a história verdadeira, a história à qual todas as frases se referem. No entanto, nunca a
descobri. Foi então que comecei a perguntar: “Será que existem histórias?”.
A partir deste terraço, repara na multidão que fervilha a teus pés. Repara na azáfama geral e no barulho. Aquela mula está a dar problemas ao condutor. Meia
dúzia de vagabundos bem intencionados oferecem os seus préstimos. Outros passam sem olhar. Têm tantos interesses como os fios de uma meada. Repara no arco formado
pelo céu, curvado por sobre as nuvens brancas. Imagina a mistura composta pelos prados, aquedutos e estradas, e também túmulos romanos destruídos, tudo isto na zona
de Champagna, e para lá desta o mar, e depois ainda mais terra e mais mar. Poderia isolar qualquer pormenor deste quadro – por exemplo, a carroça e a mula – e descrevê-lo
com o maior dos à-vontades. Mas por que razão perder tempo a descrever um homem atrapalhado com uma mula? Poderia também inventar histórias da rapariga que vem a
subir os degraus. Encontrou-se com ele à sombra de um arco... “Está tudo acabado”, disse ele, desviando-se da gaiola onde se encontrava um papagaio de louça. Ou
apenas: “Acabou-se”. Mas para quê impor as minhas concepções arbitrárias? Para quê realçar isto, moldar aquilo e construir figurinhas semelhantes aos brinquedos
que os vendedores ambulantes exibem pelas ruas? Para quê escolher isto entre uma infinitude de coisas – apenas um pormenor?
Aqui estou, em pleno processo de mudar de pele e tudo o que dirão será: “O Bernard está a passar dez dias em Roma”. Aqui estou eu, a subir e a descer este
terraço sem qualquer ponto de referência. Contudo, reparem como, à medida que caminho, os pontos e os traços se vão transformando em linhas contínuas, no modo como
as coisas vão perdendo a identidade separada que as caracterizava quando subi os degraus. O enorme vaso vermelho é agora uma mancha encarniçada vogando num mar cuja
coloração oscila entre o vermelho e o amarelo.
O mundo começa a mover-se como as vedações se movem quando o comboio parte, ou como as ondas do mar ao tentarem acompanhar os movimentos de um barco a vapor.
Eu também me movo. Começo a fazer parte da sequência geral em que uma coisa se sucede a outra, e parece ser inevitável que àquela árvore se siga o poste do telégrafo,
e só depois o intervalo na vedação. E, à medida que avanço, rodeado, incluído e fazendo parte de um todo, começam-se a formar as frases habituais, e sinto vontade
de as deixar escapar pelo alçapão que tenho na cabeça, e dirigir os passos na direcção daquele homem, cuja parte posterior da cabeça não deixa de me parecer familiar.
Andamos juntos na escola. Não tenho dúvidas de que nos encontraremos. Por certo, jantaremos juntos. Falaremos. Mas espera, espera um momento.
Estes instantes de evasão não devem ser desprezados. É com pouca frequência que ocorrem. O Taiti torna-se possível. Inclino-me no parapeito e vejo uma vastidão
de água. De súbito, eis que surge uma barbatana. Esta impressão visual não se encontra ligada a qualquer linha racional, surge como uma barbatana de golfinho no
horizonte. É com frequência as impressões visuais transmitirem umas quantas ideias breves, as quais o tempo se encarregará de decodificar e traduzir em palavras.
Sendo assim, anoto na letra B a seguinte frase: “Barbatana num deserto aquático”. Eu, que estou permanentemente a tomar notas nas margens da mente com vista à elaboração
de uma frase final, registro esta entrada, à espera de uma noite invernosa.
De momento, o melhor que tenho a fazer é ir almoçar a algum lado, erguer o copo, olhar através do vinho e ver mais do que aquilo que me é permitido pelo distanciamento
que me caracteriza. E, quando uma mulher bonita entrar no restaurante e abrir caminho entre as mesas, direi para mim mesmo: “Reparem como ela caminha ao encontro
de um deserto aquático”. Trata-se de uma observação sem sentido, mas para mim é algo de solene, plúmbeo, com o som fatal dos mundos a ruir e das águas caminhando
para a destruição.
Assim sendo, Bernard (é contigo que falo, tu, meu companheiro de aventuras), vamos começar este novo capítulo e observar a formação desta nova experiência
– desta nova gota – qualquer coisa de desconhecido, de estranho, impossível de ser identificado e igualmente terrível, e que está prestes a se formar. Aquele homem
chama-se Larpent.
– Nesta tarde quente – disse Susan –, aqui neste jardim, aqui, neste prado onde falo com o meu filho, alcancei o ponto mais alto dos meus desejos. A dobradiça
do portão tem ferrugem; ele puxa-a para a abrir. As paixões violentas características da infância, as lágrimas que chorei no jardim quando a Jinny beijou o Louis,
a raiva que me invadia na escola (que cheirava a pinho), a solidão que sentia em locais desconhecidos, quando os cascos das mulas batiam de encontro ao chão e as
mulheres italianas falavam junto à fonte, embrulhadas em xales e com cravos espetados nos cabelos, tudo isto foi recompensado por um sentimento de segurança, posse,
familiaridade. Conheci anos produtivos, calmos. Possuo tudo o que vejo. Assisti ao crescimento das árvores que plantei. Construí pequenos lagos onde os peixes dourados
se escondem por baixo das folhas largas dos lírios. Coloquei redes por sobre os canteiros de morangos e alfaces, e coloquei as peras e as ameixas em sacos brancos
impedindo assim que as vespas as picassem. Vi os meus filhos e filhas, também eles outrora protegidos por rede quando ainda não se levantavam dos berços, crescerem
até se tornarem mais altos que eu e projectarem grandes sombras na erva quando caminham a meu lado.
Pertenço aqui. Semelhante às minhas árvores, é aqui que tenho raízes. Uso frases como “meu filho”, e “minha filha”, e até mesmo o dono da loja de ferragens,
erguendo os olhos do balcão cheio de pregos, tintas e redes, respeita o velho carro que se encontra estacionado à sua porta, repleto de redes para caçar borboletas,
almofadas e cortiços. No Natal, penduramos visco branco por cima do relógio, pesamos as nossas amoras e cogumelos, contamos os frascos de compota, e colocamo-nos
junto à veneziana da janela da sala para sermos medidos. Também faço coroas mortuárias com flores brancas e folhas prateadas, às quais junto um cartão lamentando
a morte do pastor; enviando condolências à mulher do carreteiro morto; e sento-me junto ao leito das mulheres moribundas que murmuram os últimos terrores e se agarram
com força à minha mão; frequento divisões intoleráveis para quem não tenha nascido no campo, acostumado à vida na quinta, às lixeiras e às galinhas a esgaravatar,
e à mãe que tem apenas dois quartos e muitos filhos para criar. Vi janelas partirem-se devido ao calor, e senti nas narinas o cheiro das fossas. Pergunto-me agora,
de tesoura de podar nas mãos e por entre as flores, por onde poderá entrar a sombra. Que choque será capaz de libertar a minha vida, tão laboriosamente unida e comprimida?
Mesmo assim, dias há em que estou cansada da felicidade natural, dos frutos a crescer e das crianças enchendo a casa com remos, espingardas, caveiras, livros ganhos
em concursos, e toda a espécie de troféus. Estou farta do meu corpo, farta do modo laborioso como trabalho, dos modos pouco escrupulosos característicos da mãe que
protege, que reúne os filhos à mesa quando chega a hora das refeições, fitando-os de forma possessiva.
E quando chega a Primavera, com os seus aguaceiros frios e flores amarelas, que, ao olhar para a carne e ao apertar com força os saquinhos dourados das sultanas,
me lembro do modo como o Sol se erguia, as andorinhas vasculhavam a erva, das frases inventadas pelo Bernard quando éramos crianças, das folhas que sobre nós caíam,
brilhantes, luminosas, riscando o azul do céu, projectando luzes tremulas nas raízes esqueléticas das faias onde me sentava a soluçar. O pardal levantou voo. Ergui-me
de um salto e comecei a perseguir as palavras que insistiam em correr à minha frente, sem parar de subir, escapando-se por entre os ramos. Então, tal como acontece
com a superfície vidrada de uma tigela, a fixidez da minha manhã quebrou-se, e, poisando as sacas de farinha, pensei: “A vida aperta-se em meu redor como uma redoma
de vidro cercando um canavial”.
Peguei na tesoura e cortei algumas malvas, eu, que já estive em Elvedon, pisei bolotas podres, vi uma dama a escrever no jardim e os jardineiros com as suas
vassouras. Vimo-nos obrigados a fugir, arquejando, caso contrário seríamos mortos e pregados ao muro como doninhas. Agora, calculo e encarrego-me de manter as coisas.
À noite, sento-me no cadeirão e estendo a mão para a costura; ouço o meu marido ressonar; levanto os olhos quando as luzes dos carros que vão passando iluminam as
janelas e sinto as ondas da vida agitarem-se e quebrarem-se em meu redor, eu, que estou presa pelas raízes; ouço grilos e vejo as vidas alheias rodopiarem como palhinhas
em torno dos pilares das pontes. Tudo isto acontece à medida que enfio e puxo a agulha, construindo um bordado no tecido de algodão branco.
Às vezes, penso no Percival, que tanto me amou. Estava na Índia, ia a cavalo e caiu. Há alturas em que me lembro da Rhoda. Gritos agudos despertam-me a meio
da noite. Porém, e durante a maior parte do tempo, sinto-me feliz em andar com os meus filhos. Corto as pétalas mortas das malvas. Entroncada, com o cabelo branco
antes do tempo, passeio pelos campos que me pertencem, percorrendo-os com um olhar claro, o olhar de quem tem olhos em forma de pêra.
– Cá estou eu – disse Jinny –, na estação de metropolitano onde conflui tudo o que há de desejável, Piccadilly South Side, Piccadilly North Side, Regent Street
e Haymarket. Deixo-me ficar debaixo do passeio durante alguns instantes, bem no coração de Londres. São muitas as rodas e os pés que circulam por sobre a minha cabeça.
É aqui que se encontram as avenidas da civilização, bifurcando-se depois nesta ou naquela direcção. Estou no coração da vida. Mas, reparem, lá está o meu corpo reflectido
naquele espelho. Como ele parece solitário, mirrado, envelhecido! Deixei de ser jovem. Deixei de pertencer à procissão. São milhões os que caminham escada abaixo,
numa descida infernal. Muitas são as engrenagens que os empurram para baixo. O número dos que morreram ascende aos muitos milhões. O Percival também morreu. Todavia,
continuo viva, em movimento. Mas, o que acontecerá se eu fizer um sinal?
Dado não passar de um pequeno animal, arfando de medo, deixo-me aqui ficar, palpitante, trêmula. Porém, sei que hei-de perder o medo. Baixarei o chicote sobre
os meus flancos. Não sou um animalzinho uivante que procura a sombra. Só me senti assim durante breves instantes, ao me ver sem ter tido tempo de me preparar, o
que sempre faço antes de me confrontar com a visão de mim mesma.
É verdade; não sou jovem – já falta pouco para sentir que levanto o braço em vão e que o lenço cai a meu lado sem ter emitido qualquer sinal. Deixarei de ouvir
a noite encher-se de suspiros e sentir que alguém se aproxima de mim através da escuridão. As vidraças dos túneis escuros deixarão de se encher de reflexos. Olharei
para os rostos alheios e vê-los-ei procurar outra face. Durante um breve momento admito que o modo como os corpos descem as escadas rolantes, muito direitos, assemelhando-se
ao avançar de um qualquer exército composto por mortos, e a vibração das grandes máquinas que nos empurram a todos, me fez medo e senti a necessidade de procurar
abrigo.
No entanto, ainda à frente do espelho e fazendo todos aqueles preparativos que me permitem estar à vontade, juro nunca mais sentir medo. Penso em todos os
autocarros que existem, amarelos e vermelhos, que param e partem de acordo com o horário. Penso nos magníficos e poderosos automóveis que ora abrandam até estarem
em condições de acompanhar o caminhar dos seres humanos, ora se precipitam para a frente como flechas; penso nos homens e nas mulheres, equipados, preparados, que
seguem em frente. Trata-se de uma procissão triunfante; é este o exército que, armado de pendões, águias de bronze e cabeças coroadas de coroas de louro, ganhou
a batalha. Trata-se de indivíduos superiores aos selvagens que cobrem as ancas com panos, às mulheres desgrenhadas e de peitos caídos, aos quais as crianças se agarram.
Estas vias largas – Piccadilly South, Piccadilly North, Regent Street e Haymarket – são como carreiros cobertos de areia atravessando a selva. Também eu, com os
meus sapatinhos de pele, o lenço que mais não é que uma rede finíssima, os lábios vermelhos e as sobrancelhas perfeitamente desenhadas, marcho com eles rumo à vitória.
Reparem no modo como todos exibem as roupas que vestem. Mesmo no subsolo, é como se a luz nunca parasse de brilhar. Não deixarão que a terra seja uma pasta
enlamada e cheia de vermes. Existem vitrinas carregadas de rendas e seda, e roupa interior finamente bordada. Púrpura, verde, violeta, as cores misturam-se por toda
a parte. Pensem no modo como estes túneis que sulcam as rochas foram organizados, abertos, limpos e pintados. Os elevadores sobem e descem; os comboios param e partem
com uma regularidade semelhante à das ondas do mar. É com isto que concordo. Sou natural deste mundo, sigo os seus pendões. Como poderia pensar em procurar abrigo
quando tudo é tão magnificamente curioso, ousado, aventureiro, e também suficientemente forte para, mesmo durante o maior esforço, parar e rabiscar na parede uma
qualquer anedota? É por isso que vou espalhar pó no rosto e retocar a pintura dos lábios. Traçarei a linha das sobrancelhas ainda com mais força. Tão direita como
os outros, acabarei por emergir à superfície, em Piccadilly Circus. Farei sinal a um táxi, cujo condutor compreenderá de imediato aquilo que quero, demonstrando-o
pelo modo como ocorrer à chamada. O certo é que ainda desperto desejo. Continuo a sentir o modo como os homens se viram na rua, lembrando o mover silencioso das
hastes de milho quando o vento as empurra, enchendo-as de pregas vermelhas. Vou para casa encher as jarras com ramos de flores exuberantes, extravagantes. Disporei
as cadeiras desta ou daquela maneira. Terei prontos alguns cigarros, copos, e um qualquer livro recém-publicado, cuja capa chame a atenção, não se vá dar o caso
de receber a visita do Bernard, do Neville ou do Louis. Mas talvez nem sequer seja um deles, antes sim alguém novo, desconhecido, alguém com quem me tenha cruzado
numa escada e a quem, voltando-me um pouco, murmurei: “Vem”. Ele virá esta tarde, alguém que não conheço, alguém novo. O exército silencioso dos mortos que desça.
Eu sigo em frente.
– Deixei de precisar de um quarto – disse Neville –, o mesmo se passando em relação às paredes e às lareiras. Já não sou jovem. Passo pela casa da Jinny sem
qualquer sentimento de inveja, e sorrio ao jovem que, com algum nervosismo, arranja a gravata nos degraus. O janota que toque a campainha; que a encontre. Quanto
a mim, encontrá-la-ei se quiser; se não, nem sequer me deterei. A velha acidez deixou de arder – tudo se foi: a inveja, a intriga e a amargura. Também perdemos a
nossa glória. Quando éramos jovens, sentávamo-nos em qualquer lado, em bancos desconfortáveis e em salas onde as portas não paravam de bater. Andávamos de um lado
para o outro seminus, iguais a rapazes atirando água uns aos outros no convés do navio. Sou agora capaz de jurar que gosto de ver as multidões sair do metropolitano
ao fim de um dia de trabalho, uniformes, indiscriminadas, incontáveis. Já colhi o fruto que me cabia. Observo sem nutrir qualquer tipo de paixão.
Ao fim e ao cabo, não somos responsáveis. Não somos juízes. Ninguém nos obriga a torturar os nossos semelhantes com ferros e outros aparelhos; ninguém nos
pede que subamos aos púlpitos, dando-lhes sermões nas tardes pálidas de domingo. É bem melhor olhar para uma rosa, ou mesmo ler Shakespeare, que é o que faço aqui,
em Shaftesbury Avenue. Cá está o bobo, cá está o vilão. Ardendo na sua barca, é Cleópatra quem se aproxima naquele carro. Também aqui, se encontram as imagens dos
danados, de homens sem nariz que, na esquadra de polícia, gritam ao sentir que lhes estão a queimar os pés. Tudo isto é poesia desde que ninguém o escreva. Todos
representam os seus papéis com a maior das exactidões, e, antes mesmo de abrirem a boca, já sei o que vão dizer, ficando à espera do momento divino em que pronunciem
a palavra que devia ter sido escrita. Se fosse apenas pelo bem da peça, era capaz de percorrer Shaftesbury Avenue para sempre.
Vinda da rua, entrando em salas, há gente a falar, ou pelo menos a tentar fazê-lo. Ele diz, ela diz, alguém comenta que as coisas têm sido ditas com tanta
frequência, que basta uma palavra para que tudo fique dito. Discussões, gargalhadas, velhas ofensas – tudo isto paira no ar, engrossando-o. Pego num livro e leio
meia página de qualquer coisa. Ainda não consertaram o bico do bule de chá. Vestida com as roupas da mãe, uma criança dança.
Mas é então que a Rhoda, ou talvez seja o Louis, não importa, trata-se de um espírito austero e angustiado, entra e volta a sair. Querem enredo, não querem?
Querem uma razão? Esta cena vulgar não lhes basta? Não lhes basta esperar que as palavras sejam pronunciadas como se tivessem sido escritas; verem a forma encaixar
no sítio que lhes foi previamente destinado; aperceberem-se de súbito de um grupo recortando-se contra o céu. Contudo, se o que querem é violência, em todas as salas
vi mortes, crimes e suicídios. Este entra, aquele sai. Há soluços na escada. Ouvi frios quebrarem-se e o som de linhas unindo-se em nós no pedaço de cambraia branca
que aquela mulher tem poisado nos joelhos. Para quê, e à semelhança do que acontece com o Louis, querer encontrar um motivo, ou ainda, tal como a Rhoda, voar até
aos bosques e afastar as folhas dos loureiros à procura de estátuas? Dizem que devemos enfrentar a tempestade acreditando que o Sol brilha do outro lado; que o Sol
se reflecte em lagos cobertos de andorinhas. (Estamos em Novembro; os pobres seguram caixas de fósforos nos dedos roídos pelo vento.) Dizem que só aí se poderá descobrir
a verdade, e que a virtude (que aqui se deixa corromper nos becos) apenas lá é perfeita. A Rhoda passa por nós de pescoço estirado, um brilho fanático e cego no
olhar. O Louis, agora tão corpulento, sobe até ao sótão, coloca-se à janela, e fica a observar o ponto por onde ela desapareceu. Contudo, vê-se obrigado a se sentar
no escritório, rodeado de máquinas de escrever e telefones, e descobrir tudo o que é necessário à nossa reabilitação, e à reforma de um mundo que ainda não nasceu.
Todavia, nesta sala onde entro sem bater, as coisas dizem-se como se tivessem sido escritas. Dirijo-me para a estante. Se me apetecer, leio meia página de
qualquer coisa. Não preciso falar. Escuto. Estou incrivelmente alerta. Claro que qualquer um pode ler este poema sem grandes esforços. É com frequência a página
encontrar-se corrompida e manchada de lama, rasgada e unida com folhas de coloração desmaiada, com pedacinhos de verbena ou gerânio. Para se ler este poema é preciso
ter-se olhos ultra-sensíveis, semelhantes àquelas lâmpadas que, a meio da noite, iluminam as águas do Atlântico, quando apenas só um punhado de algas se encontra
à superfície, ou, sem que nada o fizesse esperar, as ondas se abrissem e um monstro surgisse por entre elas. É preciso pôr de lado invejas e antipatias e não interromper.
É preciso ter paciência e um cuidado infinito, deixando que a luz descubra as coisas só por si, quer se trate das patas delicadas das aranhas percorrendo uma folha,
ou o som da água a escoar-se por um qualquer esgoto sem importância.
Nada deverá ser rejeitado por medo ou horror. O poeta que escreveu esta página (aquilo que leio enquanto os outros falam) retirou-se. Não existem vírgulas
nem pontos e vírgulas. Os versos não se sucedem com a métrica conveniente. A maior parte das coisas não faz sentido. Temos de ser cépticos, mas isso não quer dizer
que não deitemos as precauções para trás das costas e não aceitemos tudo o que nos entra pela porta. Há vezes em que devemos chorar; outras, servimo-nos de um machado
para cortar de forma impiedosa todo o tipo de cascas e outras excrescências. E assim (enquanto eles falam) deixar a rede mergulhar cada vez mais fundo, só depois
a puxando. É então que trazemos à superfície tudo o que ele e ela disseram, fazendo poesia.
Já os ouvi falar. Foram-se todos embora. Estou só. O facto de poder ver o fogo consumir-se eternamente, como uma caldeira, como uma fornalha, deveria alegrar-me.
Agora, um pedaço de madeira assemelha-se a um cadafalso, a um poço, ou ao vale da felicidade; agora é uma serpente vermelha com escamas brancas. Junto ao bico do
papagaio, o fruto que enfeita o cortinado parece aumentar de volume. O lume zumbe, lembrando insectos a zumbir na floresta. Não pára de crepitar. Enquanto isso,
lá fora os ramos quebram-se, e, provocando um ruído semelhante ao de um tiro, uma árvore cai. São estes os sons da noite de Londres. É então que ouço aquilo por
que esperava. Aproxima-se cada vez mais, hesita, pára à minha porta. Grito: “Entra. Senta-te junto a mim. Senta-te à beira do cadeirão”. Deixando-me levar por esta
velha fantasia, grito: “Aproxima-te, aproxima-te!”.
– Estou de volta ao escritório – disse Louis. – Penduro o casaco aqui, coloco a bengala ali – gosto de imaginar que Richelieu se apoiou na minha bengala. E
assim me despojo da autoridade que possuo. Passei o dia sentado à direita do director, na mesa envernizada. Os mapas dos nossos empreendimentos bem sucedidos olham-nos
da parede. Unimos o mundo com os navios da companhia. Só as nossas linhas mantêm o mundo unido. Sou muitíssimo respeitado. Todos os jovens que trabalham no escritório
se apercebem da minha entrada. Posso jantar onde quiser, e, sem revelar qualquer vaidade, imaginar que já falta pouco para que possa adquirir uma casa no Surrey,
dois automóveis, e uma estufa com algumas espécies raras de melão. Apesar disto, continuo a voltar a este salão, a pendurar o chapéu, e, na mais completa solidão,
reiniciar a curiosa tentativa que me mantém ocupado desde o dia em que bati à porta da sala do meu mestre. Abro um livrinho. Leio um poema. Basta apenas um poema.
Oh, vento oeste...
“Oh, vento oeste, tu que estás em luta constante com a minha mesa de mogno e os polainitos que uso, e também, como não podia deixar de ser, com a vulgaridade
da minha amante, uma actrizinha que nunca conseguiu falar inglês correctamente...”
Oh, vento oeste, quando irás soprar...
A Rhoda, com a sua enorme capacidade de abstracção, com aqueles olhos cegos, de cor indefinida, é incapaz de te destruir, vento oeste, quer venha à meia-noite,
quando as estrelas brilham, ou à hora bastante mais prosaica do meio-dia. Deixa-se ficar à janela a olhar os cataventos e as vidraças partidas das casas dos pobres...
Oh, vento oeste, quando irás soprar...
A minha tarefa, o meu fardo, tem sido sempre maior que o das outras pessoas. Colocaram-me uma pirâmide nos ombros. Tentei desempenhar uma tarefa colossal.
Derrotei uma equipa violenta, desordenada e amiga de fazer jogo sujo. Com o meu sotaque australiano, sentei-me nos restaurantes e tentei fazer com que os criados
me aceitassem, sem, no entanto, esquecer as minhas mais solenes e severas convicções, bem assim como as discrepâncias e incoerências que tinham de ser resolvidas.
Enquanto rapaz, e muito embora sonhasse com o Nilo e me mostrasse relutante em acordar, consegui bater à porta construída de madeira de carvalho. Teria sido muito
mais feliz se, à semelhança da Susan e do Percival, a quem tanto admiro, tivesse nascido sem destino.
Oh, vento oeste, quando irás soprar, fazendo assim cair a chuvinha miudinha?
A vida não tem sido fácil para mim. Sou uma espécie de aspirador gigante, uma boca gelatinosa, aderente, insaciável. Tentei desalojar da carne a pedra que
aí se alojara. Foi pouca a felicidade natural que conheci, muito embora tenha escolhido a minha amante de forma a que, com o seu sotaque cockney me fizesse sentir
à vontade. Porém, ela limita-se a espalhar pelo chão uma série de roupa interior pouco limpa, e a mulher da limpeza e os marçanos não param de falar a meu respeito
durante o dia, troçando do meu porte altivo e empertigado.
Oh, vento oeste, quando irás soprar, fazendo assim cair a chuvinha miudinha?
Afinal, que tem sido o meu destino, a pirâmide pontiaguda que trago aos ombros ao longo de todos estes anos? Que me lembre do Nilo e das mulheres transportando
ânforas à cabeça; que me sinta parte dos verões e invernos que fazem ondular o milho e gelar os rios? Não sou um ser singular e passageiro. A minha vida não se assemelha
ao brilho momentâneo que ocorre na superfície de um diamante. Penetro no solo de forma tortuosa, semelhante ao carcereiro que percorre as celas transportando uma
lanterna. O meu destino traduz-se pela obrigação de jantar, de unir, de transformar em um todos os fios existentes no mundo, os mais finos, os mais grossos, os que
se partiram, tudo o que constitui a nossa longa história, os nossos dias tumultuosos e variados. Há sempre algo mais para ser compreendido; uma discórdia a que dar
ouvidos; uma falsidade a ser reprimida. Estes telhados de telhas soltas, gatos escanzelados e águas-furtadas, todos eles estão quebrados e cheios de fuligem. Abro
caminho por sobre vidros partidos, azulejos riscados, e apenas vejo rostos vis e famintos.
Vamos supor que consigo resumir tudo isto – escrevo um poema e depois morro. Posso garantir-vos que não o faria de má vontade. O Percival morreu. A Rhoda deixou-me.
Contudo, sei que viverei de forma muito respeitável, abrindo caminho com a minha bengala de castão dourado por entre as ruas da cidade. Talvez nunca chegue sequer
a morrer, nunca consiga atingir essa continuidade e permanência... Oh, vento oeste, quando irás soprar, fazendo assim cair a chuvinha miudinha?
O Percival estava coberto de folhas verdes e desceu à terra com todos os ramos a murmurar ainda de acordo com a brisa estival. A Rhoda, com quem partilhava
o silêncio quando todos os outros falavam, ela, que se retraía e desviava quando a manada se reunia e marchava ordeiramente rumo às ricas pastagens, desapareceu
como uma miragem. É nela que penso quando o sol incendeia os telhados da cidade; quando as folhas secas caem ao chão; quando os velhotes se aproximam com as bengalas
pontiagudas e furam os pequenos pedaços de papel do mesmo modo que nós fazíamos com ela...
Oh, vento oeste, quando irás soprar, fazendo assim cair a chuvinha miudinha? Oh, meu Deus, como era bom o meu amor estar nos meus braços, E eu de volta ao
leito!
Regresso ao meu livro; regresso à minha tentativa.
– Oh, vida, como te tenho odiado – disse Rhoda –, oh, seres humanos, como vos tenho detestado! O modo como se têm acotovelado, a forma como têm interrompido,
o aspecto hediondo que apresentam em Oxford Street, o ar esquálido que tinham, sentados em frente uns aos outros no metropolitano, fixando o vazio! Agora, à medida
que subo esta montanha, no cimo da qual avistarei África, a minha mente está repleta de embrulhos compostos por papel castanho e pelos vossos rostos. Vocês mancharam-me
e corromperam-me. Para mais, nas filas que formavam junto às bilheteiras, desprendia-se dos vossos corpos um odor desagradável.
Estavam todos vestidos em tons de castanho e cinzento, sem que nos vossos chapéus se verificasse a presença de uma simples pena azul. Ninguém tinha coragem
de ser diferente daquilo que era. Para chegarem ao fim do dia, imagino até que ponto a vossa alma teve de enfrentar um processo de dissolução, as mentiras, vénias,
galanteios e actos de servilismo por vós levados a cabo! A forma como me amarraram a um único ponto, a uma cadeira, durante uma hora, e se sentaram do lado oposto!
A forma como me arrancaram os espaços em branco que dividem as horas e os transformaram em bolinhas sujas, as quais depois atiraram para o cesto dos papéis com as
vossas patas gordurosas!
No entanto, submeti-me. Com a mão, cobri todos os bocejos e caretas. Não saí para a rua e parti uma garrafa de encontro à valeta em sinal de protesto. Tremendo
de raiva, tentei mostrar que não estava surpreendida. Aquilo que faziam estava feito. Se a Susan e a Jinny puxavam as meias de uma determinada forma, então eu fazia
o mesmo. A vida era tão terrível, que apoiei as sombras umas nas outras. Olhei a vida desta e daquela maneira; deixei que ali houvessem folhas de rosa e ali parras
de videira – percorri a rua inteira, Oxford Street, Piccadilly Circus, com o turbilhão existente no meu espírito, com as parras e as folhas de rosa. Haviam também
malões, os quais se encontravam à porta da escola no primeiro dia de aulas. Esgueirava-me em segredo para ler as etiquetas e sonhar a respeito de nomes e rostos.
Talvez Harrogate, talvez Edimburgo, talvez toda a glória destes locais estivesse concentrada no ponto onde se podia ver uma qualquer rapariga, cujo nome já esqueci.
Mas tratava-se apenas do nome. Abandonei o Louis; receava abraços. Com que vestes, com que velas, tentei ocultar a lâmina azul-escura? Implorei ao dia para que se
revelasse durante a noite. Ansiei ver o armário mover-se, sentir a cama tornar-se mais macia, flutuar nos ares, avistar árvores e rostos distantes, um pântano rodeado
por uma faixa de terreno verde, e duas figuras alteradas despedindo-se. Atirei as palavras aos montes, qual agricultor espalhando as sementes pelos campos arados
quando a terra está nua. O meu maior desejo sempre foi o de aumentar a noite para a conseguir encher de sonhos.
Então, num qualquer festival, separei os fios condutores da música e descobri a casa que tínhamos construído: o quadrado em cima do rectângulo. “Está tudo
contido nesta casa”, disse, ao mesmo tempo que ia sendo atirada contra os ombros das pessoas que seguiam no mesmo autocarro, logo após a morte do Percival. Acabei
por ir para Greenwich. Enquanto caminhava pelo paredão, rezei para que me pudesse sempre manter nos limites do mundo, nos locais onde não há vegetação, mas sim uma
ou outra coluna de mármore. Atirei o ramo de flores contra a onda que alastrava. Disse: “Consome-me, leva-me até ao fim dos limites”. A onda rebentou; o ramo murchou.
São poucas as vezes em que penso no Percival.
Vou agora a subir esta colina espanhola, e não tenho qualquer dificuldade em achar que esta mula é a minha cama, e que já morri. Apenas uma película muito
fina me separa das profundezas infinitas. O coxim vai-se tornando mais mole. Vamos subindo aos tropeções – avançamos aos tropeções. Tenho vindo sempre a subir, rumo
a uma árvore solitária com um pequeno lago junto a si. Naveguei pelas águas da beleza na noite em que as montanhas se fecharam sobre si mesmas, semelhantes a aves
que encolhem as asas. Apanhei um ou outro cravo e hastes de feno. Deixei-me cair na turfa, toquei com os dedos num osso velho, e pensei: “Quando o vento fustiga
este monte, talvez que aqui só se consiga encontrar um grão de poeira”.
A mula tropeça e vai avançando. O cume da colina eleva-se como nevoeiro, mas lá de cima poderei ver África. A cama acaba por ceder debaixo do meu peso. Os
lençóis salpicados de buracos amarelos deixam-me cair. A boa mulher, cuja face lembra um cavalo branco e que se encontra aos pés da cama, faz um gesto de despedida
e vira-me as costas. Sendo assim, quem me irá acompanhar? Apenas as flores, nada mais. Apanhando-as uma a uma, fiz com elas uma coroa e ofereci-as – oh, a quem?
Avançamos agora pelo precipício. Aos nossos pés vêem-se as luzes dos barcos que pescam arenques. Os rochedos desaparecem. Pequenas e cinzentas, são muitas as ondas
que se espalham aos nossos pés. Nada toco. Nada vejo. Podemo-nos afundar e ir para o meio das ondas. O mar produziria toda a espécie de sons nos meus ouvidos. A
água salgada escureceria as pétalas brancas. Flutuariam durante alguns instantes, acabando por se afundar. Fazendo-me rebolar por sobre elas, as ondas acabariam
por me servir de suporte. Tudo se desfaz numa tremenda quantidade de salpicos, dissolvendo-me. Contudo, aquela árvore possui ramos; e aquilo mais não é que o contorno
bem definido do telhado de uma casa de campo. Aquelas formas pintadas de vermelho e amarelo afinal são rostos. Ponho os pés no chão e começo a andar com cautela,
até acabar por colocar a mão contra a porta dura de uma estalagem espanhola.
O Sol estava a pôr-se. A pedra dura que constituía o dia estava-se a partir, e a luz escoava-se por todas as fendas. As ondas eram percorridas por raios vermelhos
e dourados, semelhantes a flechas enfeitadas de penas escuras. Raios esporádicos de luz brilhavam e vagueavam um pouco por toda a parte, como se fossem sinais enviados
de ilhas isoladas, ou mesmo dardos lançados por rapazes brincalhões e sem vergonha. Todavia, as ondas, ao se aproximarem da praia, já não possuíam qualquer tipo
de luz, caindo todas ao mesmo tempo com um baque surdo, tal como um muro a cair, um muro de pedra cinzenta, sem que qualquer brilhozinho as iluminasse.
Elevou-se uma brisa; as folhas foram percorridas por um tremor; e, ao serem agitadas, perderam a intensidade castanha que as caracterizava, adquirindo tons
cinzentos ou brancos consoante a direcção em que as árvores se moviam. O falcão poisado no ramo superior pestanejou por alguns instantes, levantou voo e afastou-se.
A tarambola selvagem que vagueava pelos pântanos não parava de gritar, proclamando aos quatro ventos a sua solidão. O fumo dos comboios e das chaminés como que se
desfiava, fundindo-se com as velas que pairavam por sobre o mar e os campos.
O milho já fora cortado. O restolho era tudo o que restava da agitação que antes ali se vivera. Devagar, um mocho elevou-se do ulmeiro em que estava poisado,
indo aterrar num cedro. Nas montanhas, as sombras lentas ora se alargavam ora encolhiam. O lago existente na parte mais alta da charneca era um buraco vazio. Nenhum
focinho peludo ali se reflectia, casco algum ali batia, e nem mesmo os animais sequiosos ali procuravam água. Uma ave, empoleirada num ramo cor de cinza, encheu
o bico de água fria.
Não se ouvia o som das ceifeiras nem o ruído das rodas, mas apenas o súbito rugir do vento a enfunar as velas, com isso fustigando as copas das árvores. Via-se
ali um osso, objecto de tal forma marcado pela chuva e pelo sol, que emitia um brilho semelhante ao de uma concha polida pelo mar. A árvore, que na Primavera apresentava
uma coloração avermelhada e que no Verão deixava o vento sul agitar as folhas sensíveis, apresentava-se agora tão negra e despida como uma barra de ferro.
A terra encontrava-se tão longe que era impossível distinguir os brilhos de um telhado ou de uma janela. O tremendo peso da terra sombria arrastara consigo
estas frágeis cadeias, todas estas conchas embaraçadas. Via-se a sombra líquida de uma nuvem, o bater da chuva, um raio solitário de sol, ou o riscar inesperado
dos relâmpagos. Semelhantes a obeliscos, árvores solitárias marcavam as colinas distantes.
O sol poente, despojado de calor e cada vez menos intenso, suavizava as mesas e as cadeiras enfeitando-as de losangos castanhos e amarelos. Separadas por sombras,
o seu peso parecia maior, como se a cor, inclinando-se, se tivesse concentrado num único lado. As facas, garfos e copos pareciam agora mais alongados, como que inchados
e mais imponentes. Rodeado por um círculo vermelho, o espelho imobilizava a cena como que para todo o sempre.
Enquanto isso, as sombras alongavam-se na praia; a escuridão aumentava. A bota de ferro negro era agora uma mancha azul profunda. As rochas já não eram duras.
A água que rodeava o velho barco era escura, como que repleta de mexilhões. A espuma era lívida, deixando aqui e ali um brilho prateado na areia enevoada.
– Hampton Court – disse Bernard. – Hampton Court. É aqui o nosso ponto de encontro. Reparem nas chaminés vermelhas, nas ameias quadradas de Hampton Court.
O tom de voz que utilizo para pronunciar Hampton Court serve para provar que sou um indivíduo de meia-idade. Há dez, quinze anos atrás, teria dito Hampton Court,
ou seja, na interrogativa, perguntando-me o que lá poderia encontrar. Lagos, labirintos? Ou, como quem antecipa algo: O que me irá acontecer uma vez lá chegado?
Quem irei encontrar? Agora, Hampton Court, Hampton Court, as palavras chocam contra um gongo suspenso no ar (o qual fiz os possíveis por limpar através de meia dúzia
de telefonemas e postais) e ecoam em anéis de som, estrondosos, vibrantes. Tudo isto me traz à mente uma série de imagens (tardes de Verão, barcos, senhoras de idade
erguendo as pontas das saias, uma urna no Inverno, os narcisos em Março), tudo isto flutua agora nas águas que se encontram bem no fundo de todas as cenas.
Ali, na porta da estalagem, o local onde nos combinamos encontrar, posso vê-los a todos – Susan, Louis, Rhoda, Jinny e Neville. Chegaram juntos. Dentro de
momentos, quando me juntar a eles, formar-se-á um outro arranjo, um outro padrão. Aquilo que agora se desperdiça e forma cenas em profusão, será verificado, organizado.
Sinto-me um tanto relutante em me submeter a esta regra. Sinto que a ordem do meu ser irá ser alterada a cinquenta jardas de distância. A força do íman por eles
formado faz-se exercer sobre mim. Aproximo-me. Não me vêem. A Rhoda acaba por me descobrir, mas, dado ter um verdadeiro horror ao choque provocado pelos encontros,
finge que não passo de um estranho. O Neville volta-se. De súbito, ao levantar a mão para o saudar, grito: “Também coloquei pétalas de flores entre as páginas dos
sonetos de Shakespeare”, e mostro-me bastante agitado. Os meus barcos vão vogando ao sabor das ondas. Não existe panaceia (e talvez seja bom tomar nota disto) contra
o choque característico dos encontros.
É também pouco agradável termos de juntar pontas rasgadas, cruas. Só aos poucos o encontro se vai tornando agradável, à medida que entramos na estalagem e
vamos tirando casacos e chapéus. Sentamo-nos numa sala de jantar enorme e despida, a qual dá para uma espécie de parque, um qualquer espaço verde iluminado de forma
esplendorosa pelo sol poente, o que faz com que as árvores estejam separadas por barras douradas.
– Agora, sentados lado a lado nesta mesa estreita – disse Neville –, agora que a primeira vaga de emoções ainda não se esbateu, que sentimentos nos dominam?
Com honestidade e de forma aberta e frontal, como convém a velhos amigos que se encontram com dificuldade, quais os sentimentos que o nosso encontro desperta? Pena.
A porta não se irá abrir; ele não entrará. E temos pesos às costas, o que acontece com todos os que alcançaram a meia-idade. O melhor será despojarmo-nos dos fardos.
Perguntamos uns aos outros o que foi que fizemos da vida. Tu, Bernard; tu, Susan; tu, Jinny; e vocês, Rhoda e Louis?
As listas foram afixadas na porta. Antes de quebrarmos estes rolos e de nos servirmos do peixe e da salada, meto a mão no bolso interior e encontro os documentos
que procurava, aquilo que transporto para provar a minha superioridade. Passei. Trago documentos no bolso interior que o podem provar. Mas os teus olhos, Susan,
cheios de nabos e milheirais, perturbam-me.
Os papéis que trago no bolso, a prova de que fui bem sucedido, produzem um som bastante fraco, semelhante ao que é provocado por um homem que bate as palmas
num campo vazio para assim afugentar as gralhas. Agora, sob o olhar da Susan, os ruídos por mim provocados deixaram de se fazer sentir, e apenas escuto o vento varrendo
os campos arados e o canto de uma ave, talvez uma cotovia intoxicada. Será que o criado me escutou, o criado ou aqueles casais furtivos, ora se debruçando e recostando
ora olhando para as árvores que ainda não estão suficientemente escuras para proteger os seus corpos prostrados? Não; o som das palmas fracassou.
Que será então que me resta, agora que não posso puxar dos documentos e ler-vos em voz alta a prova de que fui bem sucedido? O que resta é o que a Susan traz
à tona com aqueles olhos verdes e amargos, aqueles olhos cristalinos, em forma de pêra. Quando nos juntamos, há sempre alguém que se recusa a ser submergido (e os
nossos encontros têm as pontas afiadas); alguém cuja identidade desejamos abafar com o nosso peso. Pela parte que me toca, gostaria de submergir a Susan. Falo para
a impressionar. Escuta-me, Susan!
Quando recebo visitas ao pequeno-almoço, até mesmo os frutos bordados nas cortinas parecem inchar, tornando assim possível que os papagaios os agarrem; qualquer
um os pode abrir pressionando-os entre os dedos. O leite desnatado da manhã ganha colorações opalinas, azuis, cor-de-rosa. A essa mesma hora, o teu marido – o homem
que pôs de parte as palavras e aponta para as vacas estéreis com o chicote – vai resmungando. Tu nada dizes. Nada vês. O hábito torna-te cega. A essa hora, a vossa
relação é muda, nula, parda. Nesse mesmo instante, a minha é quente e variada. Desconheço a palavra “repetição”. Os dias são todos perigosos. Lisos à superfície,
somos todos feitos de ossos, os quais, e à semelhança das serpentes, se vão contorcendo. Vamos supor que lemos o The Times; vamos supor que discutimos. Trata-se
de uma experiência. Suponhamos que é Inverno. A neve vai-se acumulando no telhado e escorregando por ele abaixo, selando-nos numa gruta vermelha. Os canos rebentaram.
Pomos uma banheira amarela no meio do quarto. Corremos a procurar todo o tipo de recipientes. Olha para ali – voltou a rebentar junto à escada. A visão da catástrofe
faz-nos rir a bom rir. Que se destrua a solidez! Que nos tirem tudo o que temos! Ou será que é Verão? Podemos ir passear para junto de um lago e ver os gansos chineses
nadar perto da margem, ou observar uma igreja citadina, semelhante a um osso, bem assim como as árvores tremulas que a rodeiam. (Escolho ao acaso; escolho o que
é óbvio.) Todos os sinais são como arabescos destinados a ilustrar um qualquer episódio e a maravilhar-nos no mais íntimo de nós mesmos. A neve, o cano rebentado,
a banheira de metal, os gansos chineses – trata-se de sinais erguidos bem alto, bastando-me olhar para eles para ler as características de cada amor; para ver o
quanto eram diferentes.
Entretanto, tu – e é por isso que quero diminuir a tua hostilidade, esses olhos verdes fixos nos meus, o teu vestido pobre, as tuas mãos calejadas, e todos
os outros emblemas característicos do teu esplendor maternal – fixaste-te como uma lapa à mesma rocha. Sim, é verdade, não te quero magoar; apenas refrescar e restaurar
a crença que nutro em relação a mim mesmo, e que desapareceu quando entraste. Antes, quando nos encontramos num restaurante de Londres com o Percival, tudo fervilhava
e se separava em grupos; podíamos ter sido qualquer coisa. Acabamos por escolher (às vezes parece que a escolha foi feita por nós) um par de tenazes, as quais nos
foram colocadas entre os ombros. Escolho. Sigo o fio da vida para dentro, e não para o exterior, em direcção a uma fibra crua desprotegida. Sinto-me sufocado e magoado
pelas marcas deixadas por mentes, rostos, e outras coisas tão subtis que, muito embora possuidoras de cheiro, cor, textura e substância, não têm nome. Para vocês,
que vêem os limites estreitos da minha vida e a linha que ela não pode ultrapassar, não passo do Neville. Contudo, e para mim, não conheço limites; sou uma rede
cujas fibras se estendem de forma imperceptível por todas as partes do mundo. É quase impossível distingui-la do que nela se encontra envolvido. Levanta baleias
– monstros enormes e alforrecas brancas, tudo o que é amorfo e errante ; detecto; distingo. Por baixo dos meus olhos, abre-se... um livro; vejo o fundo; o coração
– observo as profundezas. Sei quais os amores que estão prestes a se incendiar; o modo como a inveja espalha por toda a parte os seus raios verdes; a forma intrincada
como os amores se cruzam; como os amores se atam e separam brutalmente. Já estive amarrado; já fui separado.
Mas já conhecemos tempos gloriosos, quando esperávamos que a porta se abrisse e o Percival entrou; quando nos deixávamos cair num qualquer assento existente
nas salas públicas.
– Havia o bosque de faias – disse Susan –, Elvedon, e os ponteiros dourados do relógio lançando raios por entre as árvores. Os pardais partiram as folhas.
Luzes tremeluzentes pairavam por sobre a minha cabeça. Conseguiram-me escapar.
No entanto, repara bem, Neville (a quem desprezo para que possa ser eu mesma), na minha mão poisada em cima da mesa. Repara nas tonalidades saudáveis que se
espalham pelos nós dos dedos e pela pele da palma. O meu corpo é usado diariamente, como um instrumento manejado por um bom jardineiro que dele sabe fazer uso. A
lâmina está limpa, afiada, um pouco gasta no centro. (Batalhamos juntos como animais lutando no campo, como veados que fazem bater as hastes umas contra as outras.)
Vistas através da carne pálida e flácida, até mesmo as maçãs e os restantes frutos devem dar a sensação de estarem numa redoma de vidro. Enterrados num cadeirão
com apenas uma pessoa (mas uma pessoa que muda), vocês limitam-se a ver uma pequena porção de carne; os nervos, as fibras, o fluxo, ora veloz ora lento, do sangue;
mas nada vêem por completo.
Não vêem a casa que está no jardim; o cavalo que está no campo; o modo como a cidade está disposta, e tudo porque se curvam como as mulheres idosas que não
desviam os olhos da peça que costuram. Todavia, eu vi a vida em blocos, substancial, enorme; as suas ameias e torres, fábricas e gasômetros, uma habitação que vem
sendo construída ao longo dos tempos, seguindo um padrão hereditário. Trata-se de coisas que permanecem concretas, definidas, indissolúveis, pelo menos para mim.
Não sou sinuosa nem suave; sento-me entre vós enfrentando a vossa apatia com a minha dureza, destruindo os frêmitos das asas cinzentas das vossas palavras, servindo-me
para isso da raiva esverdeada dos meus olhos claros.
Acabamos por nos defrontar. Trata-se do prelúdio necessário; da saudação dos velhos amigos.
– O ouro desapareceu por entre as árvores – disse Rhoda –, atrás delas só se vê uma mancha verde, comprida como uma lâmina das facas que vemos nos sonhos,
ou uma qualquer ilha onde ninguém pisa. Os carros que descem a avenida começam a escassear. Os amantes podem agora ocultar-se sob o manto da escuridão; os troncos
das árvores parecem inchados, obscenos mesmo, pois estão cheios de amantes.
– Houve um tempo em que as coisas eram diferentes – disse Bernard. – Tempos em que podíamos romper as amarras se assim o desejássemos. Quantos telefonemas,
quantos postais são agora precisos para romper este buraco no qual nos juntamos, unidos, em Hampton Court? Com que rapidez a vida desliza de Janeiro a Dezembro!
Somos arrastados pela corrente composta por toda uma série de coisas que se tornaram demasiado óbvias, familiares, e que já não projectam sombra; não fazemos comparações;
pouco pensamos a nosso respeito; e é neste estado de inconsciência que nos libertamos da fricção, rompendo as algas que haviam entupido os desembocadouros dos canais
subterrâneos. Para que possamos apanhar o comboio que parte de Waterloo, temos de saltar e de nos elevar nos ares como se fôssemos peixes. E, não importa o quão
alto saltemos, acabamos sempre por voltar a mergulhar nas águas. Nunca entrarei naquele navio com destino aos mares do Sul. Roma marcou o limite das minhas viagens.
Tenho filhos e filhas. Semelhante à peça de um puzzle, pertenço a um determinado lugar.
No entanto, trata-se apenas do meu corpo (este homem envelhecido a quem chamam Bernard) que se fixou de forma irrevogável – pelo menos é isso que desejo acreditar.
Penso agora de forma mais desinteressada do que a que me caracterizava na juventude, e, para me descobrir, tenho de ir cada vez mais fundo. “Olha, que será isto?
E isto? Será que dará um belo presente? Será que é tudo?”, e assim por diante. Sei agora o que está dentro dos embrulhos e não me importo muito. Atiro os pensamentos
aos quatro ventos, tal como um homem atira as sementes ao ar, as quais caem por entre a luz do sol-poente, indo cair na terra previamente arada, brilhante e comprimida,
onde nada se encontra.
Uma frase. Uma frase imperfeita. E o que são frases? Deixaram-me pouco para colocar no tampo da mesa, junto à mão de Susan; pouco para tirar do bolso, junto
com as credenciais do Neville. Não sou nenhum perito em leis, medicina ou economia. Semelhante a uma palha rodeada de água, estou envolvido em frases fosforescentes,
emito brilhos. E, sempre que falo, todos sentem: Estou aceso. Estou a brilhar. Quando nos encontrávamos à sombra dos ulmeiros, nos campos de jogos, os rapazinhos
costumavam pensar que as frases que saíam dos meus lábios aos borbotões eram bastante boas. Eles próprios se elevavam; também eles se escapavam com as minhas frases.
Porém, eu definho na solidão. Esta é a minha ruína.
Vagueio de casa em casa como os frades da Idade Média que enganavam as raparigas e as mulheres casadas com contas e baladas. Sou um viajante, um bufarinheiro,
pagando com uma caução a hospitalidade que me oferecem; sou um convidado fácil de agradar; alguém que ora dorme no melhor quarto da casa, na cama de dossel, ora
passa a noite no estábulo, deitado num molho de feno. Não me importo com as pulgas, o mesmo se passando com o toque da seda. Tenho uma percepção demasiado clara
da perenidade da vida e das tentações que a caracterizam para impor proibições.
Apesar de tudo, não sou tão tolerante como vos pareço, a vós, que me julgam pela fluência com que me exprimo. Trago escondido na manga um punhal envenenado
com desprezo e austeridade. Contudo, estou sempre pronto a me dispersar. Invento histórias. Construo brinquedos a partir do nada. Há uma rapariga sentada à porta
de uma vivenda; está à espera; de quem? Seduzida ou não? O director descobre que há um buraco no tapete. Suspira. A esposa, passando os dedos pelas ondas do cabelo,
ainda abundante, reflecte – e assim por diante. O ondular de mãos, as hesitações ocorridas nas esquinas, alguém que deixa cair o cigarro na valeta – tudo isto são
histórias. Mas qual delas é a verdadeira? Isso não sei. É por isso que penduro as frases, como se estivessem num roupeiro à espera que alguém as use. E assim, esperando,
especulando, tomando nota disto ou daquilo, não me agarro à vida. Serei arrastado como uma abelha que zumbe junto aos girassóis. A minha filosofia, sempre a se acumular,
a crescer de momento a momento, espraia-se em simultâneo nas mais diversas direcções. Porém, o Louis, austero, se bem que de olhar selvagem, no sótão, no escritório,
chegou a conclusões inalteráveis sobre a verdadeira natura daquilo que há a saber.
– Quebrou-se – disse Louis. – A teia que tentei tecer acabou de se quebrar. Foram as vossas gargalhadas, a vossa indiferença, e também a vossa beleza, que
a quebraram. A Jinny partiu o fio há muitos anos, quando me beijou no jardim. Os gabarolas troçavam de mim na escola por falar com sotaque australiano, e também
o partiram. É este o significado, disse, e foi então que um baque me fez parar – vaidade. Escutem, disse, escutem o rouxinol que canta mesmo aos vossos pés; as conquistas
e as migrações. Acreditem e é então que sou como que posto de lado. Opto por viajar por sobre telhas partidas e vidros estilhaçados. São muitas as luzes que tombam
sobre mim, tornando estranho um simples leopardo. Este momento de reconciliação, quando nos unimos mais uma vez, este momento nocturno, com o seu vinho e folhas
tremulas, e jovens subindo a margem do rio, vestidos de flanela e transportando almofadas, dizia, este momento está obscurecido com as sombras dos calabouços e das
torturas praticadas por alguns homens contra outros homens. Tenho os sentidos tão imperfeitos que não consigo ocultar os ataques bastante graves que, em termos racionais,
vou fazendo contra todos nós, mesmo quando aqui estamos sentados. Pergunto a mim mesmo e à ponte qual será a solução. Como poderei reduzir estas vertigens, estas
aparições bailarinas, a uma linha capaz de as unificar? E é nisto que vou pensando. Entretanto, vocês observam com malícia o modo como comprimo os lábios, as minhas
faces macilentas, e as rugas que se formam na minha testa.
Todavia, peço-vos também para repararem na bengala e no colete. Herdei uma secretária de mogno e um gabinete repleto de mapas. Os nossos navios alcançaram
uma reputação invejável devido às suas cabinas luxuosas. Fornecemos piscinas e ginásios. O colete que uso é branco e consulto sempre a agenda antes de aceitar qualquer
compromisso.
É este o escudo e a forma irônica através da qual espero desviar as atenções de todos vós da minha alma trêmula, meiga, e infinitamente jovem e desprotegida.
O certo é que sou sempre o mais novo; o que se surpreende da forma mais ingênua; o que se oferece para ir à frente, mas sempre com medo de parecer ridículo – não
vá ter o nariz sujo ou um botão desapertado. Sofro em mim todas as humilhações. Apesar disso, também consigo ser impiedoso, duro. Não entendo quando vos ouço dizer
que a vida vale a pena ser vivida. As vossas pequenas alegrias, os vossos transportes infantis, os quais ocorrem quando a chaleira ferve, quando a brisa levanta
o lenço da Jinny e o faz flutuar como se de uma teia de aranha se tratasse, são para mim idênticos a véus de seda, com os quais se tenta tapar os olhos dos touros
enraivecidos. Condeno-vos. Porém, o meu coração precisa de vós. Convosco seria até capaz de atravessar as fogueiras da morte. Mesmo assim, sou mais feliz quando
estou só. Adoro vestir de ouro e púrpura. Apesar disso, prefiro olhar os contornos das chaminés; os gatos coçando os flancos escanzelados; as janelas partidas; e
o ruído duro e seco provocado pelos sinos que tocam numa qualquer capela de tijolo.
– Vejo o que tenho à frente – disse Jinny. – Este lenço, estas manchas cor de vinho. Este copo. Esta jarra cor de mostarda. Esta flor. Gosto do que pode ser
tocado, saboreado. Gosto da chuva depois de ela se ter transformado em neve e ganho gosto. E, dado ser mais brusca e muito mais corajosa que todos vós, não considero
a minha beleza mesquinha, caso contrário queimar-me-ia. Assumo-a por inteiro. É feita de carne; é feita de matéria. Só conheço a imaginação do corpo. As suas visões
não são tão finas nem tão imaculadamente brancas como as do Louis. Não gosto de gatos magros e das tuas chaminés rachadas. As belezas desagradáveis dos teus telhados
repelem-me. Delicio-me com a visão de homens e mulheres de uniforme, perucas e capas, chapéus de coco e camisolas pólo, e a incrível variedade de vestidos femininos
(reparo sempre em todas as roupas). É com eles que me misturo, que entro e saio de salas, salões, deste ou daquele lugar. É com eles que vou para toda a parte. Este
homem levanta o casco de um cavalo. Aquele abre e fecha as gavetas onde guarda as suas colecções. Nunca estou só. Vivo rodeada por indivíduos que me são semelhantes.
A minha mãe deve ter seguido o tambor, o meu pai o mar. Sou como um cachorro que desce a rua atrás da banda do regimento, mas que pára para cheirar o tronco de uma
árvore, esta ou aquela mancha castanha, e que de súbito corre atrás de um rafeiro qualquer, acabando por levantar uma pata ao sentir o cheiro a carne que lhe chega
do talho. As minhas viagens levaram-me a locais estranhos. Foram muitos os homens que passaram através do muro e vieram ter comigo. Bastou-me levantar a mão. Em
linha recta, semelhantes a dardos, vieram encontrar-se comigo no local devido, talvez uma cadeira colocada na varanda, talvez uma loja de esquina. Os tormentos,
as divisões típicas foram por mim resolvidas noite após noite, às vezes apenas devido ao toque de um dedo por baixo da toalha, o meu corpo tornou-se tão fluido,
que basta o toque de um dedo para se transformar numa única gota, a qual se enche, estremece, reluz, e acaba por cair, em êxtase.
Tenho-me sentado frente ao espelho do mesmo modo que vocês se sentam a escrever e a fazer contas. Assim, em frente ao espelho que se encontra no templo constituído
pelo meu quarto, analisei os olhos e o queixo que nele se reflectiam; aqueles lábios que se abrem de mais, revelando grande parte das gengivas. Tenho olhado. Tenho
reparado. Tenho escolhido aquilo que mais me convém: o branco ou o amarelo, o que brilha e o que é baço, as curvas e as linhas rectas. Sou volátil para este, rígida
para aquele, angulosa como um cristal de neve prateado, ou voluptuosa como uma chama púrpura. Projectei-me com toda a violência possível, como se fosse um chicote.
A camisa dele, ali, naquele canto, começou por ser branca; depois vermelha; fomos envolvidos pelo fumo e pelas chamas; depois de uma confrontação furiosa – muito
embora mal tenhamos levantado a voz, sentado no tapete em frente à lareira, à medida que murmurávamos os nossos segredos mais íntimos de forma a os transformar em
conchas, evitando assim que fossem escutados, mesmo depois de eu ter ouvido o cozinheiro e de certa vez termos pensado ser o tiquetaque do relógio uma bola de futebol
– transformamo-nos em cinzas, nada deixando que pudesse servir de relíquia, nenhum osso por queimar, nenhuma madeixa de cabelo susceptível de ser guardada. O meu
cabelo começou a embranquecer; estou a definhar; mas continuo a sentar-me frente ao espelho em pleno dia, e reparo com exactidão no meu nariz, queixo, e lábios que
se abrem de mais e revelam grande parte das gengivas. Mesmo assim, não tenho medo.
– Quando vinha da estação – disse Rhoda –, vi candeeiros e árvores que ainda não deixaram cair as folhas. Estas talvez me tivessem podido ocultar. Contudo,
e ao contrário do que era costume, não me escondi atrás delas. Ao invés de começar a andar em círculos com vista a evitar o choque provocado pela sensação, de pronto
caminhei ao vosso encontro. Mas claro que isto só foi possível porque ensinei o meu corpo a desempenhar um certo truque. Mesmo assim, este não resulta no que respeita
ao nível inferior; tenho medo, odeio, amo, invejo-vos e desprezo-vos, mas nunca me sinto feliz por vos encontrar. Quando vinha da estação, recusando-me a aceitar
a sombra das árvores e dos postes, apercebi-me através dos vossos casacos e chapéus de chuva, e isto mesmo à distância, o quanto vocês estão embebidos numa substância
constituída pela união de uma série de momentos repetidos; do modo como se comprometem, tomam atitudes, têm filhos, autoridade, fama, amor, amigos. Pela parte que
me toca, nada tenho, nem sequer um rosto.
Aqui, nesta sala de restaurante, vocês vêem as hastes dos veados que estão penduradas na parede e também os copos; os saleiros; as manchas amarelas que enchem
a toalha. “Criado!” exclama o Bernard. “Pão!”, grita a Susan. E o certo é que o criado nos vem trazer o pão. Mas eu encaro os contornos do copo como se pertencessem
a uma montanha, e vejo apenas alguns galhos das hastes, e até mesmo aquele jarro se me apresenta como uma fenda na escuridão. Não preciso dizer que tudo isto me
fascina e horroriza. As vossas vozes lembram o som das árvores que se quebram na floresta. Sinto o mesmo em relação aos vossos rostos, com as suas saliências e covas.
Como são belos quando vistos a uma certa distância e no escuro, imóveis, recortando-se contra a vedação de uma praça qualquer! Atrás de vocês existe um crescente
de espuma branca, e os pescadores que trabalham na beira do mundo lançam as redes para depois as recolherem. O vento agita as folhas mais altas das árvores primordiais.
(Contudo, estamos sentados em Hampton Court.) Os gritos dos papagaios quebram o silêncio da selva. (É neste ponto que os eléctricos arrancam.) A andorinha mergulha
as asas nos lagos nocturnos. (Aqui fala-se.) É esta a circunferência que tento agarrar assim que nos sentamos. É por isso que tenho de me penitenciar em Hampton
Court, e precisamente às sete e meia.
Mas, e dado que necessito destes pães e das garrafas de vinho, que os vossos rostos, mesmo com as covas e saliências que lhes são características, são belos,
e não é permitido à mancha amarela existente na toalha que alastre os seus círculos de compreensão (pelo menos é isso que sonho durante a noite, quando o leito onde
durmo flutua, acabando por cair sempre na terra) de forma a que estes possam abarcar todo o mundo, tenho de me sujeitar a todas as farsas do ser. Vejo-me obrigada
a fazê-lo quando me atiram com os filhos, os poemas, as frieiras, ou seja lá aquilo que fazem e de que têm de aceitar as consequências. Contudo, ainda não me desfiz.
Depois de todos estes chamamentos, destes ataques e buscas, deixar-me-ei cair no meio das chamas, passando primeiro por esta gaze muito suave. E vocês não me ajudarão.
Mais cruéis que qualquer torturador, deixar-me-ão cair, desfazendo-me em mil pedaços durante a queda. Mesmo assim, há momentos em que as paredes da mente se tornam
menos espessas; em que nada fica por absorver, de tal forma que seria capaz de imaginar que temos capacidade para soprar uma bola de sabão de tais dimensões que
o Sol nela se poderia pôr e nascer, e que poderíamos roubar o azul do meio-dia e o negro da meia-noite, e escaparmo-nos daqui de uma vez por todas.
– O silêncio vai caindo gota a gota – disse Bernard. – Forma-se no ponto mais alto da mente e vai-se acumulando em poças. Só, só, para sempre só, escutar o
silêncio cair e estender-se em círculos até aos limites extremos. Saciado e farto, sólido devido à felicidade característica da meia-idade, eu, a quem a solidão
destrói, deixo cair o silêncio, gota a gota.
Porém, os pingos de silêncio cavam-me abismos no rosto, desgastam-me o nariz, tal como acontece com os bonecos de neve quando apanham chuva. À medida que o
silêncio cai, vou-me dissolvendo, perco as feições, e mal me consigo distinguir dos outros. O facto também não interessa. Ao fim e ao cabo que é que interessa? Jantamos
bem. O peixe, as costeletas de veado e o vinho, tudo isto contribuiu para tornar rombo o dente afiado do egotismo. A ansiedade repousa. O mais vaidoso de todos nós,
talvez o Louis, já não se importa com o que as pessoas pensam. Cessaram as tonturas características do Neville. Os outros que prosperem – é isso que ele pensa. A
Susan escuta a respiração regular dos filhos, agora adormecidos. “Durmam, durmam”, murmura. A Rhoda inclinou os barcos na direcção da praia. Não lhe interessa saber
se se afundaram ou estão a salvo. Estamos prontos a aceitar de forma quase que imparcial toda e qualquer sugestão que o mundo nos possa oferecer. Reflicto agora
sobre a possibilidade de a Terra ser apenas uma pedrinha arrancada à superfície do Sol, e de não existir vida em lugar algum nos abismos do espaço.
– Neste silêncio – disse Susan –, parece que nenhuma folha vai cair, nem nenhuma ave levantar voo.
– Tal como se o milagre tivesse acontecido – disse Jinny –, e a vida se condensasse aqui e agora.
– E – disse Rhoda –, já não mais houvesse para viver.
– Mas – disse Louis –, escutem como o mundo se move nos abismos do espaço infinito. Ouçam-no rugir; a faixa iluminada da história deixou de existir, e com
ela os nossos reis e rainhas; deixamos de ser; a nossa civilização; o Nilo; a vida. Dissolveram-se as gotas que nos conferiam individualidade; extinguimo-nos; estamos
perdidos no abismo do tempo, na escuridão.
– O silêncio cai; o silêncio cai – disse Bernard. – Mas agora escutem: tiquetaque; silvo após silvo; o mundo fez-nos de novo regressar a ele. Durante breves
instantes, quando passamos para lá da vida, ouvi rugir os ventos da escuridão. Foi então que tiquetaque (o relógio); então, os silvos (os automóveis). Aportamos,
estamos na praia; somos seis indivíduos sentados à mesa. É a imagem do meu nariz que mo lembra. Levanto-me. Luta! Luta!, grito, lembrando-me da forma do nariz que
tenho, e acabo por bater com a colher na mesa.
– Temos de nos opor a este caos ilimitado – disse Neville –, a esta imbecilidade informe. Pelo simples facto de estar a fazer amor com uma qualquer criadita
debaixo de uma árvore, aquele soldado é mais digno de admiração que todas as estrelas. Porém, há momentos em que uma simples estrela a brilhar no céu me faz pensar
que o mundo é belo, e que nós, vermes, deformamos as árvores com a nossa luxúria.
– E contudo, Louis – disse Rhoda –, o silêncio dura pouco. Já começaram a alisar os guardanapos que estão junto aos pratos. “Quem lá vem?”, pergunta a Jinny,
e o Neville suspira, pois sabe que não pode ser o Percival. A Jinny tirou o espelho da bolsa. Observando o rosto com o olhar de um artista, passa a borla de pó-de-arroz
pelo nariz, e dá aos lábios o tom de vermelho que eles precisam. A Susan, a quem a visão destes preparativos provoca um sentimento onde o medo e o desprezo se misturam,
aperta o botão superior do casaco, de novo o desapertando. Para que se estará ela a preparar? Sim, para alguma coisa, mas para alguma coisa diferente.
– Estão a falar uns com os outros – disse Louis. – Dizem: Está na hora. Continuo vigoroso. O meu rosto sobressairá contra a escuridão do espaço infinito. Não
concluem as frases. Não param de repetir que está na hora. Os jardins fecharão. E, Rhoda, ao irmos com eles, ao nos deixarmos arrastar pela sua corrente, talvez
nos deixemos ficar um pouco para trás.
– Quais conspiradores, temos segredos a partilhar – disse Rhoda.
– É verdade – disse Bernard –, sinto-o cada vez com mais segurança à medida que vamos descendo a avenida, que houve um rei que caiu do cavalo precisamente
neste ponto, depois de o animal ter tropeçado num montículo de terra.
Contudo, não deixa de ser estranho situar nos abismos do espaço infinito uma figurinha com um bule dourado na cabeça. É com facilidade que se recupera a crença
nas figuras, mas não naquilo que elas colocam na cabeça. O nosso passado inglês, uma réstia de luz. É então que as pessoas colocam um bule na cabeça e dizem: “Sou
Rei”. Não pode ser. Enquanto caminho, tento recuperar o sentido do tempo, mas o fluxo de escuridão que me passa frente aos olhos impede-me de o fazer.
Este palácio parece ser tão leve como uma nuvem. Colocar reis em tronos e pôr-lhes coroas na cabeça – isso são apenas ilusões. E nós, caminhando os seis lado
a lado, que podemos opor a esta inundação, nós, que só temos uma pequena chama a que chamamos cérebro e sentimentos? Afinal, que é que permanece. As nossas vidas
também vão escorrendo pelas avenidas mal iluminadas, para lá do tempo, sem que sejam identificadas.
Certa vez, o Neville atirou-me um poema. Ao sentir uma súbita convicção de imortalidade, disse: “Também sei o que Shakespeare sabia”. Mas até isso desapareceu.
– De forma ridícula, injustificável, o tempo regressa à medida que avançamos – disse Neville. – A máquina funciona. O tempo fez com que o portão se tornasse
velho. Quando comparados com aquele cão que, todo empertigado, satisfaz as suas necessidades, trezentos anos nada parecem ser. O rei Guilherme, usando uma peruca,
monta a cavalo, e as damas da corte varrem o solo com as suas saias bordadas. Começo a convencer-me que o destino da Europa é de importância vital, e que, por muito
ridículo que possa parecer, tudo depende da batalha de Blenheim. Sim, declaro eu no momento em que atravessamos este portão, estamos no momento presente. De súbito,
transformei-me no rei Jorge.
– À medida que descemos a avenida – disse Louis –, eu apoiando-me suavemente na Jinny, o Bernard de braço dado com o Neville, e a Susan de mão dada comigo,
sinto dificuldade em não chorar, em não imaginar que somos crianças e que rezamos para que Deus vele por nós durante o sono. É tão doce cantar em conjunto, de mãos
dadas e com medo do escuro, enquanto a Miss Curry toca harmônica!
– Os portões de ferro recuaram – disse Jinny. – As mandíbulas do tempo pararam. Graças ao pó-de-arroz, ao rouge, e aos lenços finos, conseguimos derrotar os
abismos do espaço.
– Prendo, seguro-me com força – disse Susan. – Não largo esta mão, não importa de quem ela seja, e sinto amor, sinto ódio; não interessa saber qual ao certo.
– Somos possuídos por um sentimento de calma, da dissipação – disse Rhoda – e todos desfrutamos deste alívio momentâneo (não é muito frequente deixarmos de
sentir ansiedade), quando as paredes da mente se tornam transparentes. O palácio de Wren, semelhante ao quarteto que foi tocado por todas aquelas pessoas secas que
se encontravam nos assentos, é um rectângulo. Coloca-se um quadrado em cima do rectângulo e diz-se: É aqui que moramos. A estrutura é agora visível. Pouco ficou
de fora.
– A flor – disse Bernard –, o cravo vermelho que estava em cima da mesa do restaurante na noite em que jantamos com o Percival, transformou-se numa flor composta
de seis lados, de seis vidas.
– Numa luz misteriosa – disse Louis –, reflectida contra esses teixos.
– Construída com muita dor, com muitas pinceladas – disse Jinny.
– Casamentos, mortes, viagens, amizades – disse Bernard –, campo e cidade; filhos e tudo o mais; uma substância composta por muitos ângulos, feita a partir
desta escuridão; uma flor multifacetada. O melhor será pararmos por alguns instantes e contemplarmos o que fizemos. A nossa obra que brilhe, que incida nos teixos.
Uma vida. Ali. Acabou. Desapareceu.
– Foram-se todos embora – disse Louis. – A Susan com o Bernard. O Neville com a Jinny. Tu e eu, Rhoda, paramos por instantes junto a esta urna de pedra. Que
tipo de canto iremos escutar, agora que estes casais se embrenharam nos bosques e a Jinny, gesticulando com as mãos cobertas pela pele das luvas, tenta fazer crer
que está a reparar nos nenúfares, e a Susan, que sempre amou o Bernard, lhe diz: A minha vida arruinada, desperdiçada. E o Neville, segurando a pequena mão da Jinny,
a mão cujas unhas têm a cor das cerejas, grita, talvez que influenciado pelo lago e pelo luar: Amor, amor, ao que ela responde imitando a ave: Amor, amor. Que tipo
de canto escutamos.
– E lá desaparecem eles em direcção ao lago – disse Rhoda. – Avançam por sobre a relva com passos furtivos, se bem que com a segurança de quem nos pedem um
antigo privilégio que lhes é devido, o de não serem perturbados. A corrente da alma escoa-se naquela direcção; não podem fazer outra coisa senão partir, deixando-nos
sós. A escuridão envolveu-lhes os corpos. Que canto estaremos a ouvir, o do mocho, o do rouxinol, ou o da carriça? O barco a vapor assobia; brilham os fios dos eléctricos;
as árvores vergam-se e baloiçam com gravidade. Há um fulgor a pairar sobre Londres. Vê-se uma mulher idosa a caminhar devagar nesta direcção, e também um homem,
um pescador que se atrasou, e que desce o terraço com a cana de pesca. Nada nos pode escapar, quer seja som ou movimento.
– Uma ave regressa ao ninho – disse Louis. – A noite fê-la abrir os olhos, e ela examina os arbustos mais uma vez antes de adormecer. Como a deveremos montar,
a mensagem confusa e complexa que nos enviam, e não apenas eles, mas também os mortos, rapazes e raparigas, mulheres e homens adultos, que, sob o reinado deste ou
daquele rei, por aqui passaram.
– Caiu um peso na noite – disse Rhoda –, o que a fez afundar. As árvores parecem maiores devido a uma sombra que não é a que lhes está atrás. Ouvimos os ruídos
que nos chegam de uma cidade cercada quando os turcos estão esfomeados e de mau humor. Ouvimo-los gritar num tom agudo: Abram, abram.
Ouçam como os eléctricos chiam e os fios de electricidade brilham. Escutamos as faias e os vidoeiros a elevar os ramos, tal como se a noiva tivesse deixado
cair a camisa de noite e chegasse à porta dizendo: Abre, abre.
– Tudo parece estar vivo – disse Louis. – Esta noite não consigo ouvir a morte em parte alguma. Poder-se-ia pensar que a estupidez estampada no rosto daquele
homem e a idade daquela mulher teriam força suficiente para resistir ao feitiço e trazer a morte. Mas onde é que ela está esta noite? Toda a crueza, contratempos
e fins, se estilhaçaram contra esta corrente azul, orlada a vermelho, a qual, depois de ter arrastado o maior número possível de peixes até à praia, acaba por se
quebrar aos nossos pés.
– Se pudéssemos formar uma torre humana, se pudéssemos avistar as coisas de um ponto suficientemente alto – disse Rhoda –, se pudéssemos permanecer intocáveis
e sem qualquer apoio, mas tu, perturbado por toda uma série de sons distantes onde se misturam elogios e gargalhadas, e eu, que me ressinto das noções de compromisso,
de bem e de mal, confiamos apenas na violência e na solidão da morte, e é isso que nos divide.
– Estamos divididos para sempre – disse Louis. – Sacrificamos os abraços por entre os fetos e o amor, o amor, o amor junto ao rio. Fizemo-lo quando, semelhantes
a conspiradores que se afastam para partilhar um segredo, nos juntamos ao lado da urna. Mas olha, repara, há uma onda a rasgar o horizonte. A rede vai-se levantando
cada vez mais. Está quase à superfície. As águas são salpicadas por pequenos peixes, trêmulos e prateados. Vejo aproximarem-se algumas figuras. Serão homens ou mulheres?
Trazem ainda as vestes bordadas características da corrente onde estiveram mergulhadas.
– Agora – disse Rhoda –, ao passarem por aquela árvore, recuperam o tamanho natural. Trata-se apenas de homens e de mulheres. O fascínio e o encanto desaparecem
à medida que despem os brocados. A piedade regressa quando os vejo emergir ao luar, semelhantes às relíquias de um exército que, todas as noites (aqui ou na Grécia),
sai para lutar, regressando sempre com os rostos desolados e cobertos de feridas. A luz acaba por incidir sobre eles. Têm faces. Transformam-se na Susan e no Bernard,
na Jinny e no Neville, em gente que conhecemos. Como as coisas encolhem! Como tudo se encarquilha! Que humilhação! Sou percorrida pelos velhos arrepios, ódios e
tremores, ao sentir que os anzóis que nos lançam me prendem a um único ponto. Contudo, basta-lhes falar para que as primeiras palavras por eles pronunciadas e os
gestos que as acompanham me desviem do objectivo a que me propusera inicialmente.
– Algo tremeluz e dança – disse Louis. – A ilusão regressa, à medida que vão descendo a avenida. Volto-me a interrogar.
Que será que penso de vós? Que pensarão vocês de mim? Quem sois vós? Quem sou eu? – tudo isto faz com que sobre nós volte a pairar um ar algo constrangido,
e o pulso volta a bater mais depressa, os olhos iluminam-se, e toda a insanidade da existência pessoal, sem a qual a vida cairia redonda e morreria, tudo isto recomeça.
Eles estão sobre nós. O sol poente paira por sobre esta urna; abrimos caminho até à corrente característica do mar, violenta e cruel. O Senhor ajuda-nos a representar
o papel que nos compete quando saudamos a sua volta, a volta da Susan e do Bernard, a volta do Neville e da Jinny.
– Destruímos algo com a nossa presença – disse Bernard. – Talvez um mundo.
– E contudo, mal podemos respirar de cansados que estamos – disse Neville. – Encontramo-nos naquele estado mental exausto e passivo, quando apenas nos apetece
voltar ao corpo da mãe, do qual fomos separados. Tudo o resto é desagradável, forçado e cansativo. A esta luz, o lenço amarelo da Jinny adquire uma coloração parda.
A Susan tem os olhos mortiços. É quase impossível distinguirem-nos do rio. A ponta de um cigarro é a única coisa que nos confere algum ênfase. A tristeza mancha
o nosso contentamento por vos termos abandonado, por termos rasgado o tecido; possuídos pelo desejo de espremer um sumo ainda mais negro e amargo, mas igualmente
doce. No entanto, agora estamos estoirados.
– Depois do fogo – disse Jinny –, nada mais temos para guardar.
– Mesmo assim – disse Susan –, continuo de boca aberta, como uma qualquer jovem ave insatisfeita à qual algo tenha escapado.
– Antes de partirmos – disse Bernard –, talvez seja melhor ficarmos juntos por mais um momento. Vamos passear junto ao rio na mais completa solidão. Está quase
na hora de deitar. As pessoas já foram para casa. É bastante reconfortante observar as luzes apagarem-se nos quartos dos pequenos comerciantes que vivem do outro
lado do rio. Ali está uma, ali outra. Quais terão sido os lucros por eles hoje obtidos? Apenas o suficiente para pagar a renda, a electricidade, a comida e a roupa
dos filhos. Mas apenas o suficiente. Como é grande a sensação de que a vida é tolerável que nos é dada pelas luzes dos quartos dos pequenos lojistas! Quando chega
o sábado, o mais provável é terem apenas dinheiro para pagar quatro entradas de cinema. Talvez que antes de apagarem as luzes se dirijam até ao pequeno jardim que
possuem para olhar o coelho gigante que se encontra dentro da capoeira de madeira. Trata-se do coelho que comerão ao jantar de sábado. Depois apagam as luzes. Depois
adormecem. E, para milhares de pessoas, dormir não passa de algo quente e silencioso, de um prazer momentâneo composto por um qualquer sonho fantástico. Enviei a
carta para o jornal de domingo, pensa o merceeiro. Suponhamos que ganho quinhentas libras no jogo de futebol. E, claro, mataremos o coelho. A vida é agradável. A
vida é boa. Enviei a carta. Vamos matar o coelho. Só então adormece.
E este tipo de coisas continua. Ouço um som semelhante ao deslizar de vagões nos carris. Trata-se da ligação feliz que existe entre os acontecimentos que se
sucedem na vida de cada um. Toque, toque, toque. Dever, dever, dever. Deve-se partir, deve-se dormir, deve-se levantar – trata-se daquela palavra sóbria e piedosa
que pretendemos insultar, que apertamos com força contra o coração, e sem a qual não existiríamos. Como adoramos o som dos vagões que vão batendo uns contra os outros
ao deslizar nos carris!
Não muito longe do rio, ouço pessoas cantar. Trata-se dos rapazes gabarolas que regressam em grandes grupos depois de terem passado o dia no convés de um vapor
apinhado. Continuam a cantar da mesma forma de sempre quando atravessam o pátio nas noites de Inverno, ou quando as janelas se abrem durante o Verão, embebedando-se,
partindo a mobília, vestidos com pequenas capas às riscas, olhando na mesma direcção sempre que o eléctrico contorna a esquina. E eu que tanto queria estar com eles!
Vamo-nos desintegrando com o coro, com o som da água a correr, e com o murmúrio suave da brisa. Vão ruindo pequenos pedaços de nós. Ah! Alguma coisa de muito
importante caiu ali. Já não me consigo manter inteiro. Gostaria de dormir. Todavia, temos de partir; de apanhar o comboio; de voltar para a estação – temos, temos,
temos. Somos apenas corpos que avançam lado a lado aos solavancos. Existo apenas na sola dos pés e nos músculos cansados das coxas. Parece que caminho há já várias
horas. Mas por onde? Não me consigo lembrar. Sou como um tronco que desliza suavemente por sobre uma qualquer queda de água. Não sou juiz. Ninguém me pede para dar
a minha opinião. A esta luz cinzenta, as casas e as árvores parecem todas a mesma coisa. Será aquilo um poste? Uma mulher a andar? Aqui é a estação, e se o comboio
me cortasse em dois, acabaria por voltar a me transformar num ser uno, indivisível. Porém, não deixa de ser estranho o facto de continuar a agarrar com firmeza o
bilhete de regresso de Waterloo, mesmo agora, mesmo quando estou a dormir.
O Sol acabara de se pôr. Era impossível distinguir o céu e o mar. Ao rebentar, as ondas espalhavam os seus leques brancos por sobre a praia, enviavam sombras
brancas para os recantos das grutas, e acabavam por recuar, sussurrando por sobre o cascalho.
As árvores abanavam os ramos, enchendo o chão de folhas. Estas assentavam com a maior das composturas no local exacto onde acabariam por apodrecer. O barco
partido que antes lançara raios vermelhos projectava agora sombras negras e cinzentas no jardim. Manchas negras escureciam os túneis entre os caules. O tordo calou-se
e o verme voltou ao buraco estreito onde habitava. De vez em quando, uma palha esbranquiçada e vazia era soprada de um qualquer velho ninho e caía nas ervas escuras,
por entre as maçãs podres. A luz deixara de incidir na parede da arrecadação, e a pele da cobra continuava a abanar, presa por um prego. Dentro de casa, todas as
cores haviam alagado as margens que as continham. Até mesmo as pinceladas mais definidas estavam como que inchadas; armários e cadeiras fundiam as respectivas massas
castanhas até estas constituírem uma enorme obscuridade. A distância que separava o tecto do chão estava coberta por vastas cortinas escuras. O espelho estava tão
pálido como a entrada de uma gruta oculta por trepadeiras.
Esvaíra-se a solidez das montanhas. Luzes passageiras projectavam feixes triangulares por entre estradas invisíveis e afundadas, mas aquelas não encontravam
eco entre as asas dobradas das montanhas, e não se escutava qualquer outro som para além do grito de uma qualquer ave procurando uma árvore solitária. Na margem
do rochedo, sentia-se tanto o murmúrio do vento que passava por entre as florestas, como o das águas, arrefecidas em pleno oceano em milhares de copos cristalinos.
Tal como se o ar estivesse coberto de ondas sombrias, a escuridão alastrava, cobrindo casas, montanhas e árvores, da mesma forma que as vagas circulam em torno
de um navio afundado. A escuridão descia as ruas, rodopiando em volta de algumas figuras isoladas, envolvendo-as; apagando os casais agarrados à sombra dos ulmeiros
exuberantes na sua folhagem estival. As ondas de negrume rolavam pelos caminhos cobertos de erva e pela pele enrugada da turfa, envolvendo o espinheiro solitário
e as conchas de caracol vazias. Mais acima, a escuridão soprava ao longo das vertentes nuas das terras altas, chegando mesmo a alcançar os píncaros da montanha onde
a rocha dura está sempre coberta de neve, mesmo quando os vales se enchem de riachos, de folhas de videira, e também de raparigas que, sentadas em terraços e cobrindo
os rostos com leques, elevam os olhos para a neve. A escuridão tudo cobriu.
– Está na hora de resumir – disse Bernard. – Chegou a hora de te explicar o sentido da minha vida. Dado não nos conhecermos (se bem que me pareça já te ter
encontrado antes, a bordo de um navio que seguia para África), podemos falar com franqueza. Sinto-me possuído pela ilusão de que existe algo que adere durante alguns
instantes, é redondo, tem peso, profundidade, está completo. Pelo menos por agora, é assim que sinto a minha vida. Se fosse possível, seria este o presente que te
gostaria de oferecer. Arrancá-la-ia como quem arranca um cacho de uvas. Diria: “Toma. É a minha vida”.
Mas, infelizmente, não vês aquilo que vejo (este globo, cheio de figuras). Sentado à tua frente está um homem idoso bastante pesado, cheio de cabelos brancos.
Vês-me pegar no guardanapo e desdobrá-lo. Vês-me encher um copo de vinho.
E, atrás de mim, vês uma porta por onde as pessoas vão passando. Mas, para te dar a minha vida, para que a possas entender, tenho de te contar uma história
– e se elas são tantas, tantas –, histórias de infância, histórias do tempo da escola, de amores, casamentos, mortes, e assim por diante. Contudo, nenhuma é verdadeira.
Mesmo assim, iguais a crianças, vamos contando histórias uns aos outros, e, para as conseguirmos decorar, inventamos estas frases ridículas, rebuscadas, belas.
Estou tão cansado de histórias, tão cansado de frases que assentam tão bem! Para mais, detesto projectos de vida concebidos em folhas de blocos de apontamentos!
Começo a sentir saudades de um tipo de linguagem semelhante à que é usada pelos amantes, composta por palavras soltas e inarticuladas, semelhantes a pés arrastando-se
no caminho. Começo a procurar um conceito que esteja mais de acordo com os momentos de humilhação e triunfo com que sempre acabamos por nos deparar de vez em quando.
Deitado numa vala durante um dia de tempestade depois de ter estado a chover, vejo marcharem no céu nuvens grandes e pequenas. Nesses momentos, o que me delicia
é a confusão, o peso, a fúria e a indiferença. São nuvens que não param de mover e de se transformar; qualquer coisa de sulfuroso e sinistro, arqueado; ameaçador
até ao momento em que se estilhaça e desaparece, e lá estou eu, minúsculo, esquecido, na valeta. É nesses momentos que não consigo encontrar quaisquer vestígios
de história, de conceito.
Mas entretanto, enquanto comemos, o melhor será irmos virando estas cenas, tal como as crianças viram as páginas de um livro de gravuras e escutam a ama dizer,
ao mesmo tempo que aponta: “Aquilo é uma vaca. Aquilo é um barco”. Vamos virar as páginas, e, para tua alegria, acrescentarei alguns comentários nas margens.
No princípio, havia o quarto das crianças, com janelas que davam para um jardim, e, mais além, para o mar. Via qualquer coisa brilhante – sem dúvida que o
puxador dourado de um armário. Era então que Mrs. Constable elevava a esponja acima da cabeça, espremia-a, e tanto à esquerda como à direita da minha coluna se espalhavam
picadas de sensação. É por isso que, e desde que contenhamos a respiração, não mais deixamos de sentir estas picadas sempre que batemos contra uma cadeira, uma mesa,
uma mulher – ou mesmo se caminharmos pelo jardim e bebermos este vinho. De facto, sempre que passo por uma casa de campo onde a luz da janela indica que aí nasceu
uma criança, quase me sinto tentado a implorar que não espremam a esponja por sobre aquele novo corpo. Depois, havia o jardim e toda uma vasta panóplia de folhas
que pareciam tudo rodear; flores ardendo como chamas nas profundezas verdes; um rato escondido atrás de uma folha de ruibarbo; a mosca que não parava de zumbir junto
ao tecto do quarto, e um amontoado inocente de pratos com pão com manteiga. Todas estas coisas acontecem num segundo e duram para sempre. As faces começam por surgir
de forma indefinida. Saem como que dos cantos. “Olá”, diz uma delas, “aquela é a Jinny, Aquele o Neville. Lá está o Louis vestido com um fato de flanela azul e um
cinto de pele de cobra. Aquela é a Rhoda”. Esta tinha uma taça na qual fazia flutuar pétalas de flores brancas. Foi a Susan quem chorou no dia em que eu e o Neville
estávamos na arrecadação. O facto derreteu a minha indiferença. O mesmo não se passou com o Neville. “Sendo assim”, disse, “eu sou eu, e não o Neville”, o que foi
uma descoberta maravilhosa. A Susan chorou e eu segui-a. O lenço molhado e a visão das suas pequenas costas a subir e a descer como se de a alavanca de uma bomba
se tratasse, soluçando pelo que lhe fora negado, deixou-me com os nervos arrasados. “Não é para isso que nascemos”, disse, e sentei-me junto dela em cima de umas
raízes tão duras como esqueletos. Foi aí que me apercebi da presença daqueles inimigos que mudam, mas que estão sempre ali; as forças contra as quais lutamos. É
impensável deixarmo-nos levar de forma passiva. “É esse o teu curso, mundo”, diz alguém, “o meu é este”. Sendo assim, “o melhor é explorarmos tudo” gritei, e, levantando-me
de um salto, desci a encosta a correr junto com a Susan, tendo visto o rapaz que trabalhava nos estábulos andar de um lado para o outro com um enorme par de botas.
Mais abaixo, através das profundezas das folhas, os jardineiros varriam as folhas com as suas grandes vassouras.
Sentada, a dama escrevia. Fulminados, deixamo-nos ficar quietos como se estivéssemos mortos. Pensei: “Não posso interferir com o mais pequeno movimento destas
vassouras. Elas não param de varrer. Não se comparam à rigidez com que aquela mulher escreve. É estranho como não somos capazes de impedir os jardineiros de varrer
nem de desalojar uma mulher. Ficaram comigo toda a vida. É como se tivéssemos acordado em Stonehenge, rodeados por um círculo de pedras enormes, estes inimigos,
estas presenças. Foi então que um pardal levantou voo de uma árvore. E, dado estar apaixonado pela primeira vez na vida, construí uma frase – um poema a respeito
de um pardal – uma única frase, pois na minha mente havia-se aberto uma fenda, uma daquelas súbitas transparências através das quais tudo se vê. Era então que surgiam
mais travessas de pão com manteiga e mais moscas voando em círculos junto ao tecto, onde se amontoavam ilhas de luz, tremulas, opalinas enquanto os pingentes do
lustre pingavam gotas azuis, que se amontoavam a um canto da lareira. Dia após dia, sempre que nos sentávamos para lanchar, observávamos estes sinais.
Mas éramos todos muito diferentes. A cera – a cera virgem que cobre a espinha dorsal –, fundiu-se em caminhos diferentes para cada um de nós. Os grunhidos
do rapaz das botas a fazer amor com a criada por entre os arbustos; as roupas a secar estendidas na corda; o homem morto na valeta; a macieira iluminada pelo luar;
o rato coberto de vermes; o lustre a pingar azul – a nossa cera branca foi moldada e manchada de forma diferente por cada uma destas coisas. O Louis desgostou-se
com a natureza da carne humana; a Rhoda com a nossa crueldade; a Susan era incapaz de partilhar fosse o que fosse; o Neville queria ordem; a Susan amor; e assim
sucessivamente. Sofremos imenso quando nos tivemos de separar no plano físico.
Contudo, fui poupado a estes excessos e sobrevivi a muitos dos meus amigos (se bem que agora esteja gordo, grisalho, e tenha o peito um pouco atrofiado) precisamente
porque o que me delicia não é a imagem da vida vista a partir do telhado, mas sim da janela do terceiro andar. Não me interessa o que uma mulher pode dizer a um
homem, mesmo que ele seja eu. Assim sendo, por que razão me incomodavam na escola? Por que razão se metiam comigo? Havia o director, marchando na direcção da capela
como se comandasse um navio de guerra através de uma tempestade, dando ordens através de um megafone, pois as pessoas que ocupam lugares onde tenham de exercer autoridade
acabam sempre por se tornar melodramáticas – ao contrário do Neville e do Louis, não o odiava nem o venerava. Sempre que nos sentávamos na capela, eu tomava notas.
Viam-se ali pilares, sombras, placas de bronze invocando os mortos, rapazes passando cromos uns aos outros servindo-se do livro de orações como capa; o som de uma
bomba ferrugenta; o director a trovejar a respeito da imortalidade e do facto de termos de dali sair como homens; e o Percival a coçar a coxa. Tomei toda uma série
de notas para depois usar nas minhas histórias; desenhei quadros nas margens do bloco-notas, e assim me fui separando cada vez mais. Seguem-se duas ou três figuras
que vi.
Naquele dia, sentado na capela, o Percival não parava de olhar em frente. Tinha também o hábito de levar a mão à nuca. Todos os movimentos que fazia eram dignos
de nota. Todos levávamos as mãos às respectivas nucas – mas sem qualquer sucesso. Ele possuía o tipo de beleza que se defende de qualquer carícia. Dado não ser minimamente
precoce, lia tudo o que existia da nossa edificação sem fazer qualquer comentário, e pensava com aquela equanimidade (as palavras latinas surgem com naturalidade)
que só o podia preservar de tantos actos mesquinhos e humilhações, e também de pensar que os laçarotes que a Lucy usava no cabelo e as suas faces rosadas eram o
expoente da beleza feminina. Devido a estas defesas, o seu gosto acabou por se tornar requintadíssimo. Mas o melhor seria haver música, um qualquer canto feroz.
Devia entrar agora pela janela uma canção de caça, entoada por uma forma de vida rápida e impossível de apreender – um som que fizesse eco por entre as colinas,
acabando por esmorecer. Aqui o que é surpreendente, o que não podemos justificar, o que transforma a simetria em disparate – é isso que me vem à mente sempre que
penso nele. O pequeno instrumento de observação é desmontado. Os pilares desmoronam-se; o director desaparece; sou possuído por uma estranha exaltação. Encontrou
a morte numa corrida de cavalos, e, esta noite, enquanto descia Shaftesbury Avenue, aqueles rostos insignificantes e de contornos mal definidos que surgiam nas saídas
do metropolitano, muitos indianos obscuros, as pessoas que morrem devido à fome e à doença, as mulheres enganadas, os cães espancados e as crianças chorosas – todos
me pareciam ter sido roubados. Ele teria feito justiça. Tê-los-ia protegido. Por certo que aos quarenta anos teria chocado as autoridades. Nunca me ocorreu uma canção
de embalar que fosse capaz de o sossegar.
Mas o melhor será voltar a mergulhar a colher num outro objecto minucioso a que chamamos de forma optimista “a Personalidade de um amigo” – o Louis. Não tirava
os olhos do pregador. Parecia que todo o ser se lhe concentrava no aro das sobrancelhas. Tinha os lábios comprimidos; o olhar não se movia, mas era capaz de se iluminar
subitamente com uma gargalhada. Sofria de frieiras, um dos castigos para quem tem problemas de circulação. Infeliz, sem amigos, mesmo apesar de exilado, por vezes,
em momentos de confiança, era capaz de descrever o modo como as ondas varriam as praias da sua terra. O olho impiedoso da juventude fixava-se nas suas articulações
inchadas. Mesmo assim, não tínhamos qualquer problema em perceber o quanto ele era severo e capaz. Eram muitas as vezes em que, deitados à sombra dos ulmeiros, a
fingir que estávamos a ver o jogo de críquete, esperávamos a sua aparição, a qual raramente nos era concedida. Ressentíamo-nos do seu poder e adorávamos o Percival.
Formal, desconfiado, levantando os pés como se fosse um grou, mesmo assim corria a história de que partira uma porta ao murro. Porém, o cume da sua montanha era
demasiado despido, demasiado pedregoso para que este tipo de nevoeiro a ele aderisse. Não possuía aquelas ramificações que nos ligam aos outros. Permanecia isolado;
enigmático ; um erudito capaz daquela minuciosidade inspirada que tem em si qualquer coisa de formidável. As minhas frases (o modo como descrevia a Lua) não mereciam
a sua aprovação. Por outro lado, invejava-me quase até ao desespero pela facilidade por mim demonstrada em lidar com os criados. Não que não fosse capaz de se aperceber
das suas próprias falhas. Era qualquer coisa que andava a par com o seu respeito pela disciplina. Daí ter conseguido obter sucesso. Apesar de tudo, não teve uma
vida feliz. Mas reparem – os seus olhos vão-se tornando brancos, aqui, poisados na palma da minha mão. De súbito, a noção daquilo que as pessoas representam abandona-nos.
Devolvo-o ao lago, onde por certo adquirirá algum brilho.
Segue-se-lhe o Neville – deitado de costas, os olhos fitos no céu estival. Flutuava à nossa volta um pedaço de lanugem de cardo, assombrando de forma indolente
o recanto cheio de sol do pátio, e, se bem que nos escutasse, não estava totalmente longe. Foi graças a ele que aprendi algumas coisas sobre os clássicos latinos
sem nunca os ter lido, tendo também ganho o hábito de pensar – por exemplo, a respeito de crucifixos e de estes serem marcas do diabo – o que nos leva a ter uma
visão distorcida das coisas. Os nossos meios-amores e meios-ódios, e a ambiguidade por nós revelada a respeito de tudo isto, eram para ele insignificantes. O director
palavroso e baloiçante, o qual fiz sentar frente à lareira a abanar os braços, para ele nada mais era que um instrumento da inquisição. O facto espevitava-o com
um ardor que compensava a indolência característica dos homens que lêem Catulo, Horácio e Lucrécio, e, muito embora parecesse estar a dormitar sempre que assistia
a um jogo de críquete, o seu cérebro, semelhante à língua de um papa-formigas, rápida, hábil, pegajosa, vasculhava todas as curvas e contra-curvas daquelas frases
romanas, e nunca parava de procurar uma pessoa ao lado de quem se sentar.
E as saias compridas das mulheres dos professores passavam por nós com aquele ar ameaçador, e as mãos voavam-nos para os bonés. Éramos tomados por um enorme
aborrecimento, uma monotonia incrível. Nada, mas mesmo nada, quebrava com a barbatana o deserto plúmbeo das águas. Nunca acontecia nada capaz de levantar o peso
de uma monotonia tão intolerável. Os períodos sucediam-se. Crescíamos e mudávamos, pois o certo é que não passávamos de animais. Nem sempre estamos conscientes;
comemos e bebemos de forma automática. Não só existimos em separado mas também em bolhas de matéria impossíveis de diferenciar entre si. Como um todo, um grupo de
rapazes levanta-se e vai jogar críquete ou futebol.
Um exército marcha através da Europa. Reunimo-nos em parques e salões e opomo-nos a qualquer renegado (ao Neville, ao Louis e à Rhoda) que se atreve a ter
uma existência separada.
Sou feito de maneira tal, que, mesmo quando ouço uma ou duas melodias, por exemplo, quando o Neville ou o Louis cantam, não deixo de me sentir irresistivelmente
atraído pelo som do coro que entoa uma canção antiga, sem palavras e quase que despojada de sentido, a qual percorre todas as salas durante a noite; a que continuamos
a ouvir ribombar junto a nós à medida que os automóveis e os autocarros transportam as pessoas para os teatros. (Escutem; os carros precipitam-se para lá deste restaurante;
de vez em quando, no rio, há uma sirene que apita, o que indica a existência de um vapor dirigindo-se para o mar.) Se fosse num comboio e um caixeiro me oferecesse
um pouco de rapé, por certo que aceitaria. Gosto do aspecto copioso, uniforme, quente, não muito esperto mas extremamente fácil e bastante duro das coisas; do modo
como conversam os homens que frequentam os clubes e os bares; dos mineiros seminus – de tudo o que é directo e não tem outro fim em vista senão jantar, amar, fazer
dinheiro e dar-se mais ou menos bem com os outros; de tudo o que não acalenta grandes esperanças, ideias, ou qualquer coisa do gênero; de tudo o que só pretende
tirar bom proveito de si mesmo. Gosto de tudo isto. Era por isso que me juntava aos outros sempre que o Neville ou o Louis amuavam, virando-me as costas.
E foi assim, nem sempre da mesma forma ou seguindo uma ordem precisa, que a minha cobertura de cera se foi derretendo, gota a gota. Através desta transparência
tudo se tornou visível, até mesmo aqueles campos maravilhosos onde nunca ninguém esteve e que a princípio só o luar iluminava; prados cobertos de rosas e crocos,
e também de rochas e cabras; de coisas manchadas e escuras; do que está embaraçado, ligado, e ainda do que trepa. Levantamo-nos da cama de um salto, abrimos a janela,
e com que barulho as aves levantam voo! Todos conhecemos aquele súbito bater de asas, aqueles gritos de espanto, canções e confusão; a mistura de vozes; e todas
as gotas brilham e tremem, como se o jardim fosse um mosaico composto por muitos fragmentos, sumindo, chispando; sem contudo se ter transformado numa só coisa; e
um pássaro canta junto à janela. Escutei essas canções. Segui esses fantasmas. Vi uma série de Joans, Dorothys e Miriams (já não me lembro como se chamavam) descer
as avenidas e pararem nos pontos mais altos das pontes para olhar o rio. E de entre elas elevam-se uma ou duas figuras distintas, aves que cantavam junto à janela
com o egoísmo próprio da juventude; que quebravam as cascas nas pedras e enterravam os bicos na matéria pegajosa; duras, ávidas, sem possuírem qualquer tipo de remorsos;
são elas a Jinny, a Susan e a Rhoda. Penso terem sido educadas ou na costa leste ou no sul. Deixaram crescer o cabelo, prenderam-no em rabos-de-cavalo, e adquiriram
o ar de éguas espantadas próprio da adolescência.
A Jinny foi a primeira a deslizar até junto ao portão só para comer açúcar. Revelando grande esperteza, roubava os torrões aos que os tinham, mas as suas orelhas
estavam sempre puxadas para trás, o que indicava encontrar-se sempre pronta a morder. A Rhoda era arisca – nunca ninguém a conseguiu apanhar. Tinha tanto de medrosa
como de desastrada. Foi a Susan quem primeiro se tornou mulher, um ser puramente feminino. Foi ela quem derramou no meu rosto aquelas lágrimas escaldantes que tanto
têm de belo como de terrível; de tudo ou nada. Dado necessitarem estes de segurança, nasceu para ser adorada pelos poetas, pois trata-se de seres que gostam de quem
se sente a coser e diga: “Amo, odeio”; de quem não seja próspero nem se sinta confortável, mas que possua uma qualquer qualidade em sintonia com a elevada (se bem
que pouco simpática) beleza característica do estilo puro, a qual é particularmente admirada por aqueles que criam poesia. O pai dela percorria os quartos e descia
os corredores com uma camisa de dormir bastante larga e um par de chinelos velhos. Nas noites calmas, podia-se escutar claramente o ruído das quedas d'água que ficavam
a mais de uma milha de distância. O velho cão mal tinha forças para se pôr de pé. Para mais, ainda havia uma criada louca que não parava de rir e de fazer girar
a roda da máquina de costura.
Constatei o facto até mesmo em plena angústia, quando, torcendo o lenço entre as mãos, a Susan gritou: “Amo, odeio”.
Pensei: “Há uma criatura inútil a rir no sótão”, e este pequeno exemplo serve para mostrar o modo incompleto como mergulhamos nas nossas próprias experiências.
No limite de toda a agonia senta-se um qualquer sujeito que observa e aponta; que murmura coisas, exactamente do mesmo modo como me murmurou uma frase naquela manhã
de Verão, na casa onde o milho chega até à janela: “E foi assim que me dirigiu para aquilo que transcende as nossas capacidades; para o que é simbólico e assim talvez
que permanente, isto se houver alguma permanência no facto de comermos, dormirmos e respirarmos; como se houvesse algo de permanente nestas vidas tão animais, tão
espirituais e tumultuosas”.
O salgueiro crescia junto ao rio. Sentava-me na relva macia junto com o Larpent, o Neville, o Baker, o Romsey, o Hughes, o Percival e a Jinny. Através das
suas pequenas plumas manchadas de pequenos fios que ora eram verdes na Primavera ora alaranjados no Outono, via passar os barcos; via edifícios e mulheres decrépitas
a tentar andar depressa. Foram muitos os fósforos que enterrei no solo, todos eles destinados a marcar este ou aquele estádio do processo de compreensão (poderia
ter sido filosófico; científico; até mesmo pessoal). Enquanto isso, os limites da minha inteligência captavam todas as sensações, até mesmo as mais distantes; o
soar dos sinos; murmúrios gerais; figuras que se esbatiam; uma rapariga a andar de bicicleta que, e à medida que avançava, parecia levantar a ponta do véu que ocultava
todo o caos da vida existente para lá dos contornos dos meus amigos e do salgueiro.
Só a árvore resistia ao eterno fluxo de mudança. Pois o certo é que eu mandava; era Hamlet, era Shelley, era o herói (cujo nome já me esqueci) de um romance
de Dostoievsky; e, por muito incrível que pareça, cheguei mesmo a ser Napoleão. Claro que esta fase só durou um período lectivo. O certo é que, e na maior parte
do tempo, julgava ser Byron. Durante semanas a fio nada mais fiz senão andar pelos quartos a atirar luvas e casacos para as costas das cadeiras. Não parava de caminhar
para a estante para beber mais um gole de água da nascente. Assim, deixei cair todas as frases que possuía em alguém pouco apropriado – uma rapariga que já casou
e morreu –; em todos os livros, em todos os assentos colocados junto às janelas, se viam excertos das cartas que nunca cheguei a acabar e que tinham como destinatário
a mulher que me transformava em Byron. O certo é que é difícil acabar a escrita no estilo de outra pessoa. Chegava todo transpirado à casa dela; trocávamos juras.
Contudo, e dado não me encontrar suficientemente maduro para tamanha intensidade, acabei por me casar com outra pessoa. Mais uma vez, aqui devia haver música. Nada
que se comparasse ao canto de caça do Percival; mas sim qualquer coisa de doloroso, gutural, amargo, algo parecido com o canto da cotovia e que conseguisse substituir
estes escritos idiotas – demasiado evidentes! demasiado razoáveis! – através dos quais tento descrever o momento esvoaçante característico do primeiro amor. O dia
está coberto por uma película vermelha. Olhem bem para o mesmo quarto antes e depois de ela ter entrado. Olhem para os inocentes que, cá fora, vão seguindo o seu
caminho. Nada vêem nem escutam; contudo, prosseguem. Ao nos movermos nesta atmosfera brilhante e pegajosa, sentimo-nos conscientes de todos os movimentos – algo
adere, algo se cola à nossa mão, impedindo-nos de deixar cair o jornal. Existe ainda um ser esventado – colocado no exterior, posto a rodopiar, contorcendo-se em
torno de um galho. Segue-se então o trovão da mais completa indiferença; a luz do relâmpago. Assiste-se depois ao regresso de uma certa dose de irresponsabilidade;
certos campos dão a sensação de que ficarão verdes para sempre – por exemplo, aquele canteiro em Hampstead –; e todas as faces se iluminam, todos conspiram num burburinho
de alegre ternura; e depois aquele sentido místico de realização, ao que se segue o reverso da medalha – aquelas feridas provocadas por aguilhões negros e que se
sentem sempre que ela não vem. É então que nos ares se elevam toda a espécie de suspeitas; horror, horror, horror – mas qual a necessidade de elaborar dolorosamente
estas frases consecutivas quando aquilo que é realmente necessário nada tem de contínuo, assemelhando-se mais a um latido, a um gemido? E tudo para, anos mais tarde,
ver uma senhora de meia-idade a despir o casaco no restaurante., Mas o melhor será regressarmos. Vamos voltar a fingir que a vida é uma substância sólida, com a
forma de um globo, e que a podemos fazer girar por entre os dedos. Vamos fingir ser capazes de elaborar uma história simples e lógica, de forma a que, uma vez encerrado
um assunto – por exemplo, o amor – possamos avançar de forma ordenada para o ponto seguinte. Dizia eu que havia um salgueiro. Os seus ramos caídos e a sua casca
grossa e rugosa tinham o mesmo efeito daquilo que permanece fora das nossas ilusões e que não as pode parar, chegando mesmo a sofrer as influências destas por alguns
instantes, mas que permanece estável, no mesmo sítio, com a gravidade que falta às nossas vidas. Daí o comentário que produz; o padrão que apóia, e a razão pela
qual, à medida que fluímos e mudamos, nos parece medir e avaliar. Por exemplo, o Neville sentou-se ao meu lado, na relva. Mas, ao seguir-lhe o olhar através dos
ramos até este poisar numa barca onde se encontrava um jovem a comer uma banana, perguntou-me se as coisas podem ser assim tão claras. A cena recortava-se com tanta
intensidade e estava tão impregnada pela qualidade da sua visão, que durante alguns instantes também eu a consegui ver através dos ramos do salgueiro: a barca, as
bananas, o jovem. Só então se desvaneceu. A Rhoda aparecia sempre com ar de quem anda a vaguear. Considerava úteis todos os encontros que tivesse, desde os eruditos
de capa a esvoaçar, aos burros que andavam pelos campos. Que medo se pressentia, escondia e acabava por se transformar em chamas nas profundezas daqueles olhos cinzentos,
espantados, sonhadores? Apesar de cruéis e vingativos, não somos tão maus a esse ponto. Por certo que temos uma certa dose de bondade, ou seria impossível falar
de forma aberta como o faço com alguém que mal conheço. Na sua mente, o salgueiro crescia no limiar de um deserto onde pássaro algum cantava. Quando as olhava, as
folhas encarquilhavam, agonizando sempre que por elas passava. Os eléctricos e os autocarros rugiam ainda com mais força, passando por cima de pedras e seguindo
em frente a grande velocidade. Talvez que no seu deserto existisse uma coluna iluminada pelo sol, junto a um lago onde os animais selvagens se aproximam para beber.
Seguia-se então a Jinny. Era ela quem incendiava a árvore. Era como uma papoila, febril, dominada pelo desejo de beber a terra seca. Esguia, angulosa, sem nada ter
de impulsivo, aproximava-se sempre preparada. São tão poucas as chamas que percorrem a terra seca. Ela fazia dançar os salgueiros, mas não com a imaginação, pois
só via o que ali estava. Isto era uma árvore; aquilo um rio; era de tarde; estávamos ali; eu com um fato de sarja; ela vestida de verde. Não havia passado nem futuro;
apenas o momento condensado num anel luminoso; os nossos corpos; e o êxtase e o clímax inevitáveis., Sempre que se deitava na erva, o Louis estendia um impermeável
quadrado, tornando assim a sua presença notada. Tratava-se de algo formidável. Eu possuía a inteligência suficiente para saudar a sua integridade; a pesquisa que
levava a cabo com os dedos ossudos que, e devido às frieiras, era obrigado a enrolar em farrapos, em busca de um qualquer diamante formado pela verdade indissolúvel.
Enterrei caixas de fósforos a arder nos buraquinhos que se encontravam junto à relva que pisava. O seu sorriso e língua afiada reprovavam a minha indolência. A sua
imaginação sórdida fascinava-me. Os seus heróis eram chapéus de coco, e dizia querer trocar pianos por notas de dez libras. Os eléctricos gemiam e as fábricas exalavam
toda a espécie de fumos ácidos na paisagem que construía. Vagueava por ruas e cidades secundárias onde, no dia de Natal, as mulheres vagueiam, bêbedas e nuas. As
suas palavras eram como que disparadas do alto de uma torre; atingiam a água e faziam-na erguer-se. Descobriu uma palavra, apenas uma, para descrever a Lua. Foi
então que se levantou e partiu; todos se levantaram e partiram. Porém, parei, fitei as árvores, e, tal como acontecia no Outono quando olhava para os seus ramos
vermelhos e amarelos, formou-se um qualquer sedimento; eu mesmo me formei; caiu uma gota; eu mesmo caí – ou seja, acabara de emergir de uma experiência recém-completada.
Levantei-me e parti – eu, eu, eu; não Byron, Shelley ou Dostoievsky, mas sim eu, Bernard. Cheguei mesmo a repetir o meu nome uma ou duas vezes. Sempre a abanar
a bengala, dirigi-me a uma loja e comprei – não que goste de música – um quadro de Beethoven rodeado por uma moldura de prata. Não que goste de música, mas na altura
todos os vultos importantes da história, mestres e aventureiros, seres humanos magníficos, pareciam estar atrás de mim. Claro que eu era o herdeiro; o continuador;
a pessoa a quem por milagre haviam ordenado que seguisse em frente. Assim, sempre a abanar a bengala e com os olhos úmidos, não devido ao orgulho, note-se, mas antes
à humildade, lá fui descendo a rua. O primeiro bater de asas desaparecera, o mesmo se passando com o primeiro cântico e exclamação. Está na hora de entrar em casa,
numa casa seca, habitada, descomprometida, um local carregado de tradições, objectos, montanhas de lixo, e tesouros espalhados pelas mesas. Passei a frequentar o
alfaiate da família, que me lembrava o meu tio. As pessoas começaram a surgir em grandes quantidades, mas não de forma tão precisa como os primeiros rostos (o Neville,
o Louis, a Jinny, a Susan e a Rhoda), mas antes revelando possuírem contornos confusos. Não tinham feições, ou, quando as possuíam, estas mudavam com tanta rapidez
que era como se não as tivessem. E, cheio de desprezo e ao mesmo tempo sempre a corar, sempre em situações misturadas; tudo isto sem estar preparado para aceitar
os choques da vida, os quais acontecem sempre à mesma hora e em todos os locais. Que aborrecido! Que humilhante nunca se estar certo do que dizer a seguir, passar
por todos aqueles silêncios dolorosos, tão brilhantes como desertos secos onde todas as pedras são visíveis; e depois, claro, dizer o que não se devia ter dito e
aperceber-se da existência de um fio de sinceridade que de boa vontade qualquer um trocaria por dinheiro, mas que, pelo menos naquela festa, com a Jinny sentada
na sua cadeira dourada, era impossível fazê-lo. É então que, com um gesto grandioso, uma dama pronuncia as seguintes palavras: “Venha comigo”. Leva-nos para uma
alcova privada e concede-nos a honra da sua intimidade. Os apelidos transformam-se em nomes próprios; estes em alcunhas.
Qual o comportamento a seguir em relação à Índia, à Irlanda ou a Marrocos? São os cavaleiros idosos que respondem a esta questão à luz dos candelabros. Descobrimos
com bastante surpresa que possuímos informações a mais. Lá fora, forças indistintas rugem; cá dentro, somos muito íntimos, muito explícitos, possuímos a noção de
que é aqui, neste quartinho, que construímos um determinado dia da semana. Sexta ou sábado. Uma espécie de concha nacarada, brilhante, forma-se por sobre a alma,
e é contra ela que as sensações investem, se bem que em vão. No que me diz respeito, esta carapaça formou-se mais cedo do que na maior parte das pessoas. Enquanto
os outros preferiam comer bolos, eu já descascava a minha pera. Podia pronunciar qualquer frase no mais completo silêncio. É nesta fase que a perfeição tem o seu
fascínio. Imaginamos poder aprender castelhano se atarmos um fio ao dedo grande do pé direito e acordarmos cedo. Enchemos os pequenos compartimentos da agenda com
marcações para jantares às oito e almoços à uma e meia. Espalhamos camisas, meias e gravatas em cima da cama. Contudo, esta precisão externa, esta progressão militar
e ordeira, não passa de um engano, de uma conveniência, de uma mentira. Lá bem no fundo, mesmo quando chegamos à hora aprazada ao local combinado, de coletes brancos
e fazendo uso de todo o tipo de delicadezas formais, existe sempre uma corrente de sonhos destroçados, canções infantis, gritos que se elevam nas ruas, frases e
visões por concluir – ulmeiros e salgueiros, jardineiros a varrer e senhoras a escrever – corrente esta que não pára de subir e descer, mesmo quando conduzimos uma
senhora pela mão até à mesa. No preciso momento em que endireitamos a faca, são milhares os rostos que se agitam de um lado para o outro. Nada existe que possamos
apontar com a colher; nada que possamos chamar um acontecimento. Todavia, esta corrente é também ela viva e profunda. Nela submerso, parava a meio de duas garfadas
e fitava com toda a atenção uma jarra onde se encontrava uma flor vermelha, enquanto era como que iluminado por uma súbita revelação. Ou, ao descer o Strand, dizia:
“É esta frase que quero”, pois acabara de ver uma qualquer coisa fantasmagórica ave, pássaro ou nuvem, elevar-se e abarcar de uma vez por todas a ideia que até então
não parava de me atormentar, e atrás da qual me mantivera, mesmo quando olhava para as gravatas e outras coisas bonitas existentes nas montras. O vidro, o globo
da vida como alguém lhe chamou, longe de ser duro e frio, tem paredes feitas do mais fino ar. Se as apertarmos, rebentam. Seja qual for a frase que tiro deste caldeirão,
ela não passa de um conjunto de seis pequenos peixes que se deixaram apanhar, enquanto milhões de outros continuam a nadar e a saltar, fazendo com que o caldeirão
pareça um banho de prata incandescente, muito embora se escapem por entre os meus dedos. Há rostos que não cessam de aparecer, rostos e rostos – pressionam a sua
beleza contra as paredes da minha bolha. Trata-se do Neville, da Susan, do Louis, da Jinny, da Rhoda, e de mil outras pessoas. Tal como acontece com a música, é
impossível ordená-las de forma correcta, isolá-las umas das outras, ou conferir-lhes um efeito global. A sinfonia por elas construída é tão estranha, com as suas
concordâncias e discordâncias, as suas notas agudas e graves! Cada uma toca o seu instrumento: rabeca, flauta, clarim, percussão, e assim por diante. Com o Neville
discutia o Hamlet. Com o Louis, ciência. Com a Jinny, amor. Então, sem que nada o fizesse esperar, parti para Cumberland com um homem bastante pacato, disposto a
passar uma semana numa pousada onde a chuva não parava de bater contra as vidraças e ao jantar só se comia carneiro. Contudo, essa semana permanece um marco bastante
sólido num turbilhão de sensações não registradas. Foi aí que jogamos dominó; foi aí que discutimos a respeito da carne rija dos carneiros. Foi aí que passeamos
pelas charnecas. E uma menina, receosa de abrir a porta e entrar, entregou-me uma carta escrita em papel azul, através da qual fiquei a saber que a rapariga que
fizera de mim Byron casara com um rico proprietário rural, um homem de polainas e chicote, que durante o jantar discursava a respeito da melhor maneira de engordar
bois. Gritei tudo isto aos quatro ventos, olhei para as nuvens que não paravam de correr pelos céus, e senti o meu fracasso; o desejo de ser livre; de escapar; de
me prender; de ter um objectivo; de prosseguir; de ser o Louis; de ser eu mesmo; e saí para a rua sozinho, de impermeável vestido, e as montanhas eternas fizeram-me
sentir enjoado e nada sublime. Acabei por regressar, culpar a carne por tudo o que acontecera, fazer as malas e regressar à confusão; à tortura. Apesar de tudo,
a vida é agradável, tolera-se. À segunda, segue-se a terça e depois a quarta. A mente constrói anéis; a identidade torna-se mais robusta; a dor é absorvida no processo
de crescimento. Sempre a abrir-se e a fechar-se, zumbindo cada vez mais, a velocidade e a febre da juventude são aproveitadas para o trabalho, até o ser nada mais
parecer do que o mecanismo de um relógio. Com que velocidade a corrente segue de Janeiro a Dezembro! Somos arrastados por tudo aquilo que se nos tornou tão familiar
que não chega a projectar sombra. Flutuamos, flutuamos... Porém, e dado ter de saltar para te contar esta história, lá vou deixando ficar para trás este ponto ou
aquele, acabando por fazer a luz incidir num qualquer objecto perfeitamente vulgar – digamos, o atiçador e a tenaz – tal como o vi passado algum tempo, depois do
casamento da rapariga que me fazia sentir Byron, e agora, sob a influência de uma pessoa a quem chamarei a terceira Miss Jones. Trata-se da rapariga que usa um determinado
vestido quando espera alguém para jantar, que colhe uma certa rosa, que, no momento em que nos barbeamos, nos faz sentir que precisamos ter calma, pois estamos perante
um assunto de grande importância. É então que se pensa: “Como se comportará ela em relação às crianças?”. Reparamos que é um pouco desajeitada com o chapéu de chuva;
mas que se revelou ponderada quando a toupeira foi apanhada na armadilha; e, finalmente, que não tomaria o pequeno-almoço (pensava nos intermináveis pequenos-almoços
da vida de casado) num momento demasiado prosaico – ninguém que se sentasse frente a esta rapariga ficaria surpreendido por ver uma borboleta poisar no pão que se
encontrava na mesa. Para mais, inspirava-me o desejo de subir na vida; para mais, fez-me olhar com curiosidade para os rostos até então algo repulsivos dos bebés
recém-nascidos. E o pequeno bater compassado – tiquetaque, tiquetaque – do coração da mente ganhou um ritmo majestoso. Desci Oxford Street. “Somos os continuadores,
os herdeiros”, disse, lembrando-me dos meus filhos e filhas; e se se trata de um sentimento tão grandioso a ponto de se tornar absurdo e de o termos de ocultar saltando
para um eléctrico ou comprando o jornal da tarde, continua a contribuir bastante para o ardor com que apertamos os atacadores das botas e com que nos dirigimos aos
velhos amigos, agora ocupados com carreiras diferentes.
Louis, o habitante do sótão; Rhoda, a ninfa da fonte sempre úmida; ambos contradiziam tudo o que então considerava positivo; ambos me transmitiam a outra face
daquilo que me parecia tão evidente (o facto de nos casarmos, de nos tornarmos domesticados); e era por isso que os amava, lamentava e invejava profundamente o facto
de serem tão diferentes de mim. Tive em tempos um biógrafo. O indivíduo já morreu há muito, mas se ainda seguisse os meus passos com a mesma intensidade lisonjeira,
comentaria da seguinte maneira o que então aconteceu: “Por esta altura, Bernard contraiu matrimónio e comprou casa... Os amigos constatavam um aumento da sua necessidade
de estar em casa... O nascimento dos filhos explicou a vontade por ele demonstrada em aumentar os seus rendimentos”. Estamos em presença daquilo a que se chama estilo
biográfico, o qual nada mais é do que juntar estilhaços de coisas que nada têm a ver umas com as outras. Ao fim e ao cabo, não podemos encontrar defeitos neste tipo
de estilo se começamos as cartas com “Caro Senhor”, e as terminamos com “Atenciosamente”; não podemos desprezar estas frases dispostas como estradas romanas no tumulto
das nossas vidas, pois são elas que nos fazem andar ao ritmo das pessoas civilizadas; com o passo lento e comedido dos polícias, isto apesar de, ao mesmo tempo,
podermos estar a trautear os maiores disparates em voz baixa – “Escuta, escuta, os cães afinal sempre ladram”. “Vai-te embora, vai-te embora morte”, “Não me entregues
ao casamento das mentes verdadeiras”, e assim por diante. “Foi bem sucedido em termos profissionais... O tio deixou-lhe uma pequena soma de dinheiro” – é assim que
o biógrafo continua, e é assim que tem de o fazer, mesmo que de vez em quando se sinta tentado a brincar com todas estas frases. Mesmo assim, há que as dizer.
Transformei-me num determinado tipo de homens, percorrendo o caminho que me foi traçado na vida como alguns percorrem os carreiros existentes nos campos. As
botas que uso gastaram-se um pouco mais no lado esquerdo. Quando entro, procedem-se a determinados arranjos. “Cá está o Bernard!” As pessoas pronunciam esta frase
de forma tão diferente! Existem muitas salas, muitos Bernards. Havia aquele que era encantador mas fraco; o forte mas arrogante; o brilhante mas inexorável; o simpático
mas frio; o descuidado mas também – e era apenas preciso mudar para a outra sala – o aperaltado, o mundano, o demasiado bem vestido. Aquilo que eu representava para
mim mesmo era completamente diferente, nada tinha a ver com isto. Sinto-me inclinado para me ver com isto. Sinto-me inclinado para me ver melhor representado frente
ao cesto do pão, enquanto tomava o pequeno-almoço com a minha mulher, que, sendo agora casada comigo, deixara de ser a rapariga que usava uma certa rosa sempre que
esperava encontrar-se comigo. Tudo isto me dava a sensação de estar vivo, de existir no meio do nevoeiro, mais ou menos como um sapo que se oculta à sombra de uma
folha verde. “Passa-me...” dizia eu. Ela respondia “o leite”, ou dizia coisas como “a Mary está a chegar”... – palavras simples para aqueles que herdaram os despojos
de todas as eras, mas não quando ditas naquele contexto quotidiano, na maré cheia da vida, quando, à mesa do pequeno-almoço, nos sentíamos completos, inteiros. Músculos,
nervos, intestinos, vasos sanguíneos, tudo o que constituía o revestimento e a mola do nosso ser, o zumbido inconsciente do motor, bem assim como o dardo e o chicote
da língua, tudo isto funcionava de forma soberba. Abrindo, fechando; fechando, abrindo; comendo, bebendo; por vezes falando – todo o mecanismo parecia expandir-se
e contrair-se, semelhante à mola principal de um relógio. Pão torrado e manteiga, café e bacon, o The Times e as cartas – de súbito o telefone tocava com urgência
e eu levantava-me de propósito para o atender. Pegava no bucal preto. Repara na facilidade com que a minha mente se ajustava com vista a assimilar a mensagem – podia
ser (tem-se sempre destas fantasias) um convite para assumir o comando do império britânico; observava a minha compostura; reparava na vitalidade magnífica com que
os átomos da minha atenção se dispersavam, rodeavam o hiato, assimilavam a mensagem, se adaptavam ao novo estado de coisas, e, quando voltava a poisar o auscultador,
criavam então um mundo mais rico, forte e complicado, no qual era chamado a desempenhar o papel que me competia sem nunca duvidar de que era capaz de o fazer. Enfiando
o chapéu na cabeça, saía para um mundo habitado por multidões de homens e mulheres que também haviam enfiado os chapéus nas cabeças, e, sempre que nos encontrávamos
nos comboios e metropolitanos, trocávamos o olhar característico de adversários e camaradas que têm de enfrentar toda a espécie de dificuldades para atingir o mesmo
objectivo – ganhar a vida. A vida é agradável. A vida é boa. O simples processo segundo o qual decorre é satisfatório. Pensemos no cidadão comum e saudável. Trata-se
de alguém que gosta de comer e dormir.
Gosta de sentir o cheiro fresco do ar e de descer o Strand com um passo apressado. No campo, há um galo empoleirado num portão; há uma égua galopando num prado.
Há sempre algo que tem de ser feito a seguir. À segunda segue-se a terça, depois a quarta e a quinta. Cada dia espalha a mesma onda de bem-estar, repete a mesma
curva de ritmo; cobre a areia fresca com um arrepio, ou constrói uma pequena teia de espuma. E é assim que o ser começa a deixar crescer anéis; a identidade torna-se
mais robusta. Aquilo que antes era furtivo como um pequeno grão lançado ao ar e soprado de um lado para o outro pelas rajadas fortes da vida, passa a ser agora atirado
de forma metódica numa direcção precisa, obedecendo a um objectivo – pelo menos é o que parece. Meu Deus, que agradável! Meu Deus, que bom! Como é tolerável a vida
dos donos das pequenas lojas! Pelo menos, é essa a impressão com que fico à medida que o comboio vai atravessando os subúrbios e vejo as luzes que estão acesas nas
salas. Activos, enérgicos como formigas, dizia, quando à janela via os operários dirigirem-se para a cidade de lancheira na mão. Quanta dureza, energia e violência,
pensava, ao ver um grupo de homens de calções brancos correrem atrás de uma bola de futebol num campo cheio de neve, em pleno Janeiro. Muito embora me deixasse perturbar
por qualquer ninharia - podia ser a carne – parecia-me ser um enorme luxo deixar que uma pequena onda abalasse a enorme estabilidade e toda a felicidade da nossa
vida de casados, mais ainda quando o nosso filho estava prestes a nascer. Jantei rapidamente. Falei de forma pouco razoável, como se fosse milionário e me pudesse
dar ao luxo de esbanjar dinheiro; ou ainda, qual faz-tudo, tropeçasse de propósito. Quando íamos para a cama, resolvíamos as nossas questiúnculas nas escadas, e,
deixando-me ficar junto à janela a olhar para um céu tão límpido como o interior de uma pedra azul, dizia: “Deus seja louvado por não termos de transformar esta
prosa em poesia. Bastam-nos algumas palavras”. O espaço e a claridade da paisagem não ofereciam grandes impedimentos, permitindo-nos antes alargar as nossas vidas
para lá dos telhados e das chaminés, até atingirmos o limite imaculado. Foi contra este pano de fundo que a morte se abateu – a morte do Percival. “Qual o significado
da felicidade?”, (o nosso filho acabara de nascer), “qual o significado da dor?”, disse, à medida que descia as escadas e constatava um fenômeno puramente físico:
a divisão do meu corpo em duas partes iguais. Anotei também o estado da casa; o modo como a cortina ondulava; a cozinheira a cantar; o guarda-fatos aparecendo através
da porta entreaberta. Disse: “Dêem-lhe (a mim) um outro momento de descanso”. Ia a subir as escadas. “Agora, nesta sala, ele vai sofrer. Não há outra saída.” Todavia,
não há palavras que cheguem para definir a dor. Devia haver choros, gritos, fissuras, espaços em branco cobrindo as colchas de chita, interferências com o sentido
de tempo e espaço; a sensação de que os objectos em movimento haviam adquirido uma enorme fixidez; e toda a espécie de sons, ora distantes ora próximos; de carne
a ser rasgada e de sangue a escorrer, de uma articulação quebrando-se com violência – por baixo de tudo aparece agora algo muito importante, se bem que remoto, algo
que só a solidão pode manter. E lá continuei a existir. Vi a primeira manhã que ele nunca veria – os pardais lembravam brinquedos dispostos em cima de uma corda
puxada por crianças. Vejo as coisas com desprendimento, do lado de fora, e é tão estranho aperceber-me do quanto são belas em si mesmas! Segue-se a impressão de
que me tiraram um peso dos ombros; de que toda a irrealidade e faz-de-conta desapareceram, de que a suavidade chegou junto com uma espécie de transparência, tornando-nos
invisíveis e fazendo com que as coisas nos surjam frente aos olhos à medida que caminhamos – como tudo isto é estranho. “E agora, que outras descobertas nos restam?”
e, perguntei, para não perder a compostura, ignorei os títulos dos jornais prestando apenas atenção às imagens. Madonas e pilares, arcos e laranjeiras, tudo semelhante
ao que fora no dia da criação (se bem que tocado pelo desgosto), estava ali, à espera do meu olhar. “Aqui”, disse, “estamos juntos sem qualquer interrupção.” Esta
liberdade, esta exaltação, mexeram tanto comigo que, por vezes, ainda hoje lá vou, à procura do mesmo estado de espírito e também o Percival. Todavia, não durou
muito. O que nos atormenta é a terrível actividade do olho da mente – a forma como caiu, o aspecto que devia ter quando o transportaram, os homens com as ancas cobertas
por um pano que não paravam de puxar as cordas; as ligaduras e a lama. É então que surge aquela terrível garra da memória – que não o acompanhei a Hampton Court.
Trata-se de uma garra que arranha, de uma mandíbula que desfaz; não fui. Apesar de todos os protestos impacientes por ele apresentados de que não interessava; para
quê estragar e interromper o nosso momento de comunhão? Apesar da vergonha que sentia, não parava de repetir que não o acompanhara, e, expulso do santuário por estes
demônios diligentes, fui até à casa da Jinny porque ela tinha uma sala; uma sala cheia de pequenas mesas em cima das quais se encontrava toda a espécie de ornamentos.
Foi lá que, por entre lágrimas, confessei não ter ido a Hampton Court. E ela, por seu turno, lembrando-se de coisas que para mim não passavam de ninharias, mas que
tinham o poder de a torturar, revelou-me que a vida murcha sempre que existem factos que não podemos partilhar. Não demorou muito para que uma criada entrasse na
sala, transportando um bilhete, e, quando ela se virou para responder senti-me tomado por uma grande vontade de saber o que estaria ela a escrever e a quem a mensagem
se dirigia. Foi precisamente isto que me fez ver a primeira folha cair na campa do morto. Vi-nos ultrapassar este momento e deixá-lo a sós para sempre. E, sentados
lado a lado no sofá acabamos por nos lembrar do que já fora dito por outros; “os lírios são muito mais belos em Maio”; comparamos o Percival a um lírio – o Percival,
a quem eu queria ver cair o cabelo, chocar as autoridades, envelhecer junto comigo, estava agora coberto de lírios. E assim passou a serenidade do momento; e assim
ela se tornou simbólica; e foi exactamente isso que não consegui suportar. Gritei que o melhor seria cometer a blasfêmia de troçar e criticar, e tentar não o cobrir
com esta pasta adocicada, a cheirar a lírios. Acabei por partir e a Jinny, que não sabia o significado das palavras futuro ou especulação mas que respeitou o momento
com a maior das integridades, moveu o corpo como se este fosse um chicote, empoou o rosto (era isso que me fazia amá-la), e, já à porta, despediu-se de mim com um
aceno, enquanto levava a outra mão ao cabelo para que o vento não a despenteasse, gesto este que me levou a admirá-la ainda um pouco mais, como se fosse algo que
confirmasse a nossa determinação de não deixar crescer os lírios. Observei com uma clareza desiludida a falta de identidade da rua; as suas varandas e cortinas;
as roupas castanhas, a cupidez e a complacência das mulheres que trabalhavam nas lojas; os velhos passeando com as suas roupas de lã; a forma cautelosa como as pessoas
atravessavam a rua; a determinação universal de se continuar a viver quando a verdade é que, seus idiotas, uma qualquer telha vos podia cair em cima e este ou aquele
carro galgar o passeio, pois não existe qualquer espécie de lógica ou razão quando um homem embriagado caminha pela rua com um varapau na mão. Era como alguém a
quem deixaram ver a peça por detrás das cortinas do palco; como alguém a quem se mostra a forma como os efeitos são produzidos. No entanto, acabei por voltar a casa,
onde a criada me pediu para tirar os sapatos e subir a escada de meias. O bebê estava a dormir. Fui para o quarto. Não haveria então uma espada, qualquer coisa capaz
de destruir estas paredes, esta protecção, este gerar filhos e viver atrás de cortinas, envolvendo-nos cada vez mais com livros e quadros? O melhor seria seguir
o exemplo do Louis e consumir a vida na busca da perfeição; ou fazer como a Rhoda e passar por nós a voar, rumo ao deserto; ou, à semelhança do Neville, escolher
apenas uma pessoa de entre os milhões de indivíduos existentes; talvez fosse melhor ainda fazer como a Susan e tanto amar como odiar quer o sol quer a erva coberta
de geada; ou então ser como a Jinny, uma criatura honesta semelhante a um animal. Todos possuíam os seus êxtases, um fio que os ligava à morte; algo que os mantinha
de pé. E assim lá os ia visitando à vez, tentando com os dedos trêmulos abrir os cofres onde guardavam os tesouros. Visitava-os transportando nas mãos a mágoa que
sentia – não, não a mágoa, mas sim a natureza incompreensível desta nossa vida –, pedindo-lhes que a inspeccionassem. Há quem se vire para os padres, outros para
a poesia; eu virava-me para os amigos, para o meu coração, e procurava encontrar algo intacto entre as frases e os fragmentos – eu, para quem não existe beleza suficiente
na Lua e nas árvores; para quem basta o toque entre duas pessoas mas que nem sequer o soube aproveitar, eu que sou tão imperfeito, tão fraco, tão incrivelmente solitário.
E lá ficava eu sentado. Poderia ser este o fim da história? Uma espécie de suspiro? O último estremecer de uma onda? Um fio de água na sarjeta onde, borbulhando,
acaba por desaparecer? Deixem-me tocar na mesa – assim – para que possa recuperar o sentido do momento. Uma prateleira coberta por galheteiros; um cesto de pãezinhos;
um prato de bananas – trata-se de visões reconfortantes. Mas, e se não existem histórias, será que se pode falar em começo e fim? Talvez que a vida não responda
ao tratamento que lhe damos quando a seu respeito falamos. Ainda acordado mesmo quando a noite já vai alta, parece-me estranho não poder controlar mais as coisas.
É então que os ninhos dos pardais não são de grande utilidade. É estranho como a força se infiltra numa qualquer fenda seca. Sentado sem ter ninguém para me fazer
companhia, tenho a sensação de que estamos gastos; somos incapazes de avançar um pouco mais e umedecer a rocha. Acabou-se, chegamos ao fim. Mas espera – fiquei toda
a noite sentado, à espera – sinto de novo um impulso que nos percorre; levantamo-nos, afastamos uma crista de espuma branca; alcançamos a praia; não nos deixamos
limitar. Ou seja, lavei-me e fiz a barba; não acordei a minha mulher; tomei o pequeno-almoço; pus o chapéu e saí para ganhar a vida.
O certo é que às segundas se sucedem as terças. Contudo, restava ainda uma dúvida, uma nota interrogativa. Ao abrir a porta, surpreendi-me por ver os outros
ocupados; ao pegar na chávena de chá, hesitei antes de dizer se preferia com leite ou açúcar. E a luz que caía das estrelas (exactamente como agora o faz) e poisava
na minha mão depois de ter viajado durante milhões e milhões de anos, nada mais podia fazer do que me provocar um breve choque – o certo é que a minha imaginação
é demasiado fraca. Contudo, restava ainda uma dúvida. Uma sombra na minha mente lembrando o bicho do caruncho que se introduz na madeira. Por exemplo, quando nesse
mesmo ano fui visitar a Susan ao Lincolnshire e ela atravessou o jardim para me vir receber, movendo-se com os movimentos de uma vela semi-enfunada, com os movimentos
baloiçando-nos no jardim. As carroças subiam o caminho carregadas de feno; as gralhas e as pombas arrulhavam da forma que lhes é peculiar; a fruta fora coberta e
envolvida em redes; o jardineiro cavava. As abelhas zumbiam atrás dos carreiros vermelhos das flores; as abelhas mergulhavam nos escudos amarelos dos girassóis.
A relva estava coberta de pequenos galhos. Tratava-se de qualquer coisa de rítmico, semiconsciente, envolto em brumas. Todavia, e pela parte que me tocava, era horrível,
lembrava-me uma rede que cai sobre nós e nos tolhe os movimentos. Ela, que recusara o Percival, dera-se a isto, a este disfarce. Sentado num banco à espera do comboio,
pensei no quanto nos havíamos rendido, na forma como nos tínhamos submetido à estupidez da natureza. À minha frente viam-se bosques cobertos de folhas verdes. E,
devido a um qualquer odor ou som, a velha imagem regressava – os jardineiros a varrer e a dama sentada a escrever. Vi as figuras posicionadas junto às árvores, lá
em Elvedon. Os jardineiros varriam, a senhora sentada à mesa não parava de escrever. No entanto, agora posso juntar o contributo da maturidade às intuições infantis
– saturação e ruína; a sensação de que há sempre algo que não podemos ter; a morte; o conhecimento das nossas limitações; o saber o quanto a vida é mais dura do
que aquilo que havíamos pensado. Quando era criança, bastava-me sentir a presença de um inimigo para me sentir espicaçado. Levantava-me e gritava: “Vamos partir
à exploração.” E assim punha ponto final ao horror característico destas situações. E que situação havia ali para terminar? Saturação e ruína. E para explorar? Folhas
e árvores que nada tinham a esconder. Se uma ave levantava voo, não celebrava o facto fazendo um poema – repetia o que já antes vira. Assim, se tivesse um ponteiro
com que indicar as flutuações da curva da vida, indicava esta como sendo a mais baixa; é aqui que ela se enrola sem qualquer sentido na lama onde maré alguma chega
– aqui, no local onde me sento com as costas apoiadas à vedação, os olhos cobertos pela aba do chapéu, enquanto o rebanho lá vai avançando com aquele passo duro
e automático, característico das suas patas duras e finas. Mas, se afiarmos a lâmina romba de uma faca a uma pedra de amolar, algo se eleva: uma ponta de fogo. Assim,
a falta de razão e de destino, o quotidiano, tudo isto misturado produziu uma chama composta por dois factores: ódio e desprezo. Acabei por pegar na minha mente,
no meu ser, naquele objecto quase inanimado, e atirei-o contra todas aquelas pontas soltas, paus e palhas, despojos detestáveis de um naufrágio flutuando numa superfície
oleosa. Levantei-me de um salto. Gritei: “Luta! Luta!”. O único objectivo que nos mantém vivos é o esforço e a luta, o estado de guerra permanente, o destroçar e
voltar a unir – a batalha quotidiana, a derrota ou a vitória. As árvores, antes espalhadas, foram postas em ordem; o verde espesso das folhas transformou-se numa
luz bailarina. Prendi tudo isto com uma frase súbita. Arranquei tudo isto ao terror do que é informe apenas com o uso das palavras. O comboio chegou. Alongando-se
na plataforma, acabou por parar. Entrei nele. E estava de novo em Londres ao fim da tarde. Como me coube bem aquela atmosfera de senso comum e tabaco; de velhotas
sentadas nos compartimentos de terceira classe agarradas aos cestos; de fumadores de cachimbo de “boa noite e até amanhã” pronunciadas por amigos que se despediam
nas estações intermédias, e depois as luzes de Londres – nada que se comparasse ao êxtase da juventude, nada que se comparasse aos estandartes violeta de então,
mas mesmo assim as luzes de Londres; luzes eléctricas e duras elevando-se nos escritórios mais altos da cidade; candeeiros de iluminação pública espalhados pelos
pavimentos secos; chamas rugindo por sobre os mercados. Sinto sempre prazer em ver tudo isto depois de ter despachado um inimigo, nem que seja só por um momento.
Por exemplo, gosto de ver o espectáculo da vida quando vou ao teatro. Aqui, o animal pardo, indescritível, que antes vagueava pelos campos, ergue-se nas patas traseiras,
e, com uma grande dose de esforço e ingenuidade, ergue-se disposto a lutar contra os bosques e os campos verdes, e também contra os carneiros que, ruminando, avançam
a um ritmo regular. E, como não podia deixar de ser, grandes janelas cinzentas estavam iluminadas; rolos de passadeira cortavam o pavimento; era ali que se limpavam
e enfeitavam quartos, lareiras, alimentos, vinhos e conversas. Homens de mãos enrugadas e mulheres de brincos de pérolas não paravam de entrar e sair. Vi os rostos
dos homens repletos de rugas e esgares provocados pelo trabalho e pelo mundo; e a beleza, que de tão adorada sempre por florescer, mesmo na velhice; e a juventude,
tão apta para o prazer que este, pelo simples facto de nele se pensar, se vê obrigado a existir. Parecia que as colinas se precipitavam na sua direcção; e que o
mar o cortava em pequenas ondas; e que os bosques fervilhavam de aves coloridas apenas para a juventude, para a juventude expectante. Era lá que se podia encontrar
a Jinny e o Hal, o Tom e a Betty; era lá que contávamos as nossas piadas e partilhamos segredos; e nunca nos separávamos sem antes ter combinado um outro encontro
no lugar mais apropriado à ocasião e à altura do ano. A vida é agradável; a vida é boa. A terça sucede-se à segunda, e depois daquela vem a quarta. Sim, mas as coisas
começam a ser diferentes ao fim de um certo tempo. O facto pode ser-nos sugerido pelo aspecto de uma sala numa determinada noite, pelo modo como as cadeiras se dispõem.
Parece ser bastante confortável afundarmo-nos no sofá colocado a uma esquina, e olhar, escutar. É então que duas figuras de costas para a janela se recortam contra
os ramos de um salgueiro. Chocados, sentimos que se trata de pessoas cujos rostos não possuem qualquer beleza. Na pausa que se segue ao espalhar das ondas, a rapariga
com quem era suposto estarmos a falar diz para si mesma: “Ele é velho”. No entanto não podia estar mais enganada. Não se trata da idade; foi apenas uma gota que
caiu; mais uma. O tempo alterou as coisas outra vez. Lá vamos saindo do arco coberto de folhas, penetrando num mundo cada vez mais vasto. A verdadeira ordem das
coisas – e é esta a nossa ilusão eterna – é agora apenas aparente. Assim, num instante, numa sala de estar, a nossa vida ajusta-se à marcha pomposa de um dia percorrendo
o céu. Foi por isso que, ao invés de pegar nos meus sapatos de pele e de descobrir uma gravata tolerável, fui procurar o Neville. Procurei o mais antigo dos meus
amigos, aquele que me conhecia desde os tempos em que eu era Byron, um dos discípulos de Meredith, e também o herói de um livro de Dostoievsky, cujo nome já me esqueci.
Fui encontrá-lo só, a ler. A mesa perfeitamente arrumada; a cortina corrida de forma metódica; uma faca de cortar papel separando as páginas de um livro em francês
– só então me apercebi de que ninguém altera nem as roupas nem as atitudes pelas quais os conhecemos. Lá estava ele sentado na mesma cadeira, vestindo a mesma roupa,
igualzinho ao que fora no dia em que o conheci. Reinava ali a liberdade, a intimidade; o lume da lareira quase fazia explodir as maçãs das cortinas. Ficamos aIi
muito tempo sentados a conversar. Acabamos por descer a avenida, a avenida que se oculta por baixo das árvores, por baixo das árvores de folhas pesadas e sussurrantes,
as árvores que estão repletas de frutos. Trata-se da avenida que tantas vezes percorremos juntos, de forma que já não existe erva em torno de algumas árvores, em
torno de algumas peças e poemas (os que nos eram mais queridos) – já que não existe erva porque a gastamos com os nossos passos. Leio sempre que tenho de esperar;
se acordo durante a noite, procuro um livro na prateleira. A inchar, sempre a aumentar de volume, tenho a cabeça cheia de ideias nunca antes registradas. Por vezes,
recito uma passagem. Talvez se trate de Shakespeare, talvez de uma velha mulher chamada Peck. A fumar um cigarro enquanto estou deitado na cama, digo de mim para
mim: “Isto é Shakespeare. Aquilo é Peck”. Pronuncio estas palavras com a certeza característica do reconhecimento, junto com o choque sempre agradável do conhecimento,
muito embora nada disto possa ser totalmente partilhado. E lá vamos comparando as nossas versões de Shakespeare e Peck, permitindo que as opiniões que perfilhamos
nos ajudem a esclarecer alguns pontos obscuros das versões alheias; acabando por mergulhar num daqueles silêncios que só muito raramente são quebrados por algumas
palavras, como se uma barbatana se elevasse para quebrar o silêncio; depois do que a barbatana (o pensamento) regressa às profundezas, provocando em seu redor uma
onda de satisfação, de contentamento. Sim, mas de súbito escutamos o tiquetaque de um relógio. Nós, que antes tínhamos estado imersos neste mundo, apercebemo-nos
da existência de outro. É doloroso. Foi o Neville quem alterou o nosso tempo. Ele, que pensara com o tempo ilimitado do espírito, o qual se estende como um relâmpago
desde Shakespeare até nós, atiçou o lume e começou a viver de acordo com aquele relógio que marca a aproximação de uma determinada pessoa. Contraiu-se o balançar
vasto e digno da sua mente. Pôs-se em guarda. Sentia-o escutar o ruído das ruas. Reparei na forma como tocava na almofada. De entre a vastidão de todos os seres
humanos existentes e de todo o passado, escolhera uma única pessoa. Escutou-se um ruído na entrada. Aquilo que ele estava a dizer ficou a pairar no ar como uma chama
pouco à vontade. Fiquei a vê-lo avançar passo a passo, esperar por um certo sinal de identificação e olhar para o puxador da porta com a rapidez de uma cobra. (Compreendi
então o que fazia com que as suas sensações fossem tão agudas – fora sempre treinado pela mesma pessoa.) Uma paixão tão concentrada só podia expulsar todos os que
lhe eram estranhos, mais ou menos como os fluidos cintilantes fazem com todo e qualquer tipo de massa que não os integre. Apercebi-me do quanto a minha natureza,
repleta de sedimentos e dúvidas, repleta de frases e agendas recheadas de apontamentos, era vaga e enevoada. As dobras do cortinado imobilizaram-se; o pisa-papéis
que estava em cima de uma mesa tornou-se mais pesado; a trama das cortinas faiscou; tudo se tornou definido, externo, uma cena à qual eu não pertencia. Sendo assim,
levantei-me e deixei-o. Meu Deus, de que modo as mandíbulas e aquela dor antiga se apossaram de mim assim que abandonei a sala! o desejo de ver uma pessoa que não
estava ali. Quem? A princípio não o soube, depois lembrei-me do Percival. Há meses que não pensava nele. Era tão bom que pudesse estar ali com ele, a descer a rua
de braço dado e a rir às gargalhadas, troçando do Neville.
Mas ele não estava. O seu lugar era um buraco vazio. É tão estranho o modo como os mortos nos assaltam ao virar da esquina, nos sonhos! Este vento cortante
e frio fez-me percorrer Londres durante toda a noite à procura de outros amigos, por exemplo, o Louis e a Rhoda, pois outra coisa não desejava para além de companhia,
certezas, contacto. Enquanto subia as escadas interroguei-me sobre o funcionamento da sua relação. Que diriam quando se encontravam a sós? Imaginava-a pouco à vontade
com a chaleira na mão. Via-a deixar espraiar o olhar por sobre os telhados – ela, a ninfa da fonte sempre úmida, obcecada com visões, a sonhar. Via-a afastar a cortina.
“Fora!” disse. “O pântano junto à Lua está muito escuro.” Toquei, fiquei à espera. O Louis talvez estivesse a encher de leite o prato do gato; o Louis e as suas
mãos ossudas semelhantes às margens de uma doca que a muito custo comprime o tumulto das águas, sabia tudo o que os egípcios e os indianos haviam dito; sabia todas
as palavras pronunciadas por todos aqueles homens de malares subidos e turbantes enfeitados de jóias. Bati, esperei; não houve qualquer resposta. Voltei a descer
as escadas. Os nossos amigos – tão distantes, tão silenciosos, a quem tão pouco visitamos e dos quais quase nada sabemos. Claro que também sou vago e desconhecido
aos olhos dos meus amigos, um fantasma, algo que só raramente se vê. A vida só pode ser um sonho. A nossa chama, a chispazinha que dança em alguns olhos, não tarda
a se apagar. Lembrei-me dos amigos.
Pensei na Susan. Ela comprara terra. Nas suas estufas amadureciam pepinos e tomates. No vinhedo que a geada de há dois anos destruíra, cresciam agora uma ou
duas folhas. Rodeada pelos filhos, percorria os campos com um andar pesado. Andava por ali rodeada de homens calçados com polainas, e ao mesmo tempo apontava com
a bengala para um telhado, para as vedações, para os muros a ameaçar ruína. Os pardais seguiam-na, desejosos de apanhar uma ou outra semente que se escapava por
entre os seus dedos robustos, capazes. “Mas já deixei de me levantar de madrugada”, disse ela. Seguiu-se então a Jinny – sem dúvida que acompanhada por um qualquer
jovem. Por certo, teriam chegado ao momento de crise que costuma ocorrer em todas as conversas. A sala estava propositadamente escurecida; as cadeiras dispostas
com precisão. O certo é que ela ainda procurava o momento. Sem ilusões, dura e límpida como o cristal, cavalgava em plena luz do dia com o peito a descoberto. Deixava
que os espigões a espetassem. Quando o calor do ferro em brasa que lhe ardia na testa se tornava insuportável, não sentia qualquer espécie de medo. Só assim podia
ter a certeza de que tudo estaria em ordem quando a fossem buscar para o enterro. As fitas seriam encontradas no lugar certo. Ainda assim, a porta continua a abrir-se.
“Quem é?”, pergunta, ao mesmo tempo que se levanta para o receber. Está tão preparada como naquelas primeiras noites de Primavera, quando as árvores em frente às
casas onde os respeitáveis cidadãos londrinos se deitavam com toda a sobriedade mal conseguiam ocultar o seu amor; e o chiar dos eléctricos se misturava com o grito
de prazer que emitia, e o ondular das folhas disfarçava o seu langor, a deliciosa lassidão com que se afundava, refrescada por toda a doçura da natureza satisfeita.
É certo que quase nunca visitamos os amigos e pouco sabemos a seu respeito. Contudo, quando encontro um desconhecido e lhe tento contar “a minha vida” – como faço
neste momento – não me limito a recordar apenas uma vida. Não sou apenas uma pessoa; sou muitas; ao fim e ao cabo, não sei quem sou – se a Jinny, se a Susan, o Neville,
a Rhoda, ou o Louis. Para mais, sinto-me incapaz de distinguir a minha vida das que eles viveram. Foi isso que pensei naquela noite outonal em que nos juntamos para
mais um jantar em Hampton Court. A princípio era visível que não nos sentíamos à vontade, pois todos tínhamos os nossos compromissos, e as outras pessoas que subiam
o caminho vestidas desta ou daquela maneira, com bengala ou sem ela, pareciam contrariá-los. Vi o modo como a Jinny olhava para os dedos grosseiros da Susan e depois
ocultava os seus; eu, pelo menos quando comparado com o Neville, tão arrumado e organizado, sentia o quanto a minha vida era um amontoado de frases. Foi então que
ele se começou a exibir, pois sentia vergonha de uma sala, de uma pessoa, do seu próprio sucesso. O Louis e a Rhoda, os conspiradores, os espiões sentados à nossa
mesa, diziam: “Ao fim e ao cabo, o Bernard consegue que o criado nos venha trazer pães – uma forma de contacto que nos é negada”. Por breves instantes, vimos à nossa
frente o corpo daquele ser humano completo que nunca chegamos a ser, mas que, e ao mesmo tempo, somos incapazes de esquecer. Vimos tudo aquilo que poderíamos ter
sido; tudo o que perdemos; e por breves instantes ressentimo-nos das pretensões dos outros, quais crianças que, ao verem partir o único bolo que existe, sentem que
a parte que lhes foi destinada é a mais pequena. No entanto, tínhamos uma garrafa de vinho, e, assim seduzidos, esquecemos as inimizades e paramos de fazer comparações.
E, sensivelmente a meio da refeição, sentimos a escuridão alastrar à nossa volta, a consciência do que não éramos.
O vento, o barulho das rodas, tudo se transformou no rugir do tempo, e precipitamo-nos – para onde? Quem somos nós? Extinguimo-nos por um momento, elevamo-nos
como faúlhas saltando de um pedaço de papel queimado, e o negrume rugiu. Fomos além do tempo, além da história. Para mim, trata-se de algo que dura apenas um segundo,
terminando devido à minha pugnacidade. Bato na mesa com a colher. Se pudesse medir as coisas com compassos por certo que o faria, mas, dado que a minha medida são
as frases, lá as vou construindo. Éramos seis pessoas sentadas a uma mesa em Hampton Court. Levantamo-nos e descemos juntos a avenida. À luz vaga e irreal da madrugada,
caprichosa com o som de vozes ecoando ao longo de uma galeria, recuperei a genialidade. Recortando-se contra o portão, contra um qualquer cedro, vejo os contornos
brilhantes do Neville, da Jinny, da Rhoda, do Louis, da Susan, e também de mim mesmo. Vejo a nossa vida, a nossa identidade.
Apesar de tudo, o rei Guilherme continuava a ser irreal, com uma coroa feita de lata. Mas nós – encostados aos tijolos, aos ramos, nós os seis, sobressaindo
de entre milhões de seres humanos, ardíamos em triunfo, saindo da abundância comedida do passado e do futuro. O momento era tudo, o momento bastava. Foi então que
o Neville e a Jinny, a Susan e eu, semelhantes a uma onda que se quebra, nos separamos, nos rendemos – à folha seguinte, a uma determinada ave, a uma criança com
um arco, ao valor que fica armazenado nos bosques depois de um dia de sol, às luzes que se contorcem como fitas brancas em águas agitadas. Separamo-nos; consumimo-nos
na escuridão das árvores, deixando ficar a Rhoda e o Louis no terraço, junto à urna. Quando emergimos daquele banho – que doce, que profundo! – e vimos que os conspiradores
ainda ali se encontravam, não ficamos muito satisfeitos. Perdêramos o que eles ainda possuíam. Havíamos interrompido algo. Contudo, estávamos cansados e, quer tivesse
sido bom ou mau, consumido ou deixado por concluir, um véu cinzento caía sobre os nossos esforços; quando paramos por alguns instantes no terraço que dava para o
rio, vimos que as luzes se iam afundando. Os barcos a vapor despejavam os passageiros na margem. Ouviu-se uma saudação distante, o som de cânticos, tal como se as
pessoas abanassem os chapéus e entoassem em coro a mesma canção. O ruído das vozes atravessou o rio e senti em mim o velho impulso que me moveu durante toda a vida:
o de me deixar vogar ao som das vozes dos outros entoando a mesma melodia; o de ser atirado para cima e para baixo de acordo com uma alegria, um sentimento, um triunfo
e um desejo quase que despojados de sentido. Mas não agora. Não! Não me podia organizar; não me podia aperceber de mim mesmo; não me podia dar ao luxo de deixar
cair na água tudo o que até há um minuto atrás me fizera sentir ansioso, divertido, ciumento, vigilante, e muitas outras coisas mais. Sentia-me incapaz de recuperar
de todo aquele desperdício, dissipação, o vogar à tona nas águas contra a nossa vontade, afastando-nos silenciosamente por entre os arcos da ponte, girando em torno
de um amontoado de árvores ou de uma olha, lá, onde as aves marinhas descansam no cimo de estacas, por sobre as águas revoltas que no mar acabam por se transformar
em ondas – não consegui recuperar desta dissolução. E lá acabamos por nos separar. Seria então aquela mistura com os outros, com a Susan, a Jinny, a Rhoda, o Louis
e o Neville, uma espécie de morte? Uma nova disposição dos elementos? Um qualquer sinal do que se viria a passar? Fechei o livro depois de ter tomado nota do facto,
pois o certo é que sou um aluno intermitente. Na hora certa, não há maneira de saber a lição. Mais tarde, quando descia Fleet Street durante a hora de ponta, lembrei-me
do que se passara e resolvi dar-lhe continuidade. Pensei: “Será que devo continuar a bater com a colher no tampo da mesa? Não faria melhor se cedesse um pouco, aliás,
como todos os outros fazem?”. Os autocarros estavam apinhados; sucediam-se ininterruptamente e paravam com um estalido, como se cada um deles fosse um elo numa corrente
de pedra. As pessoas continuavam a andar. Eram multidões transportando pastas as que se moviam com a rapidez de um rio aquando da altura das cheias. O ruído por
elas provocado era semelhante ao rugir de um comboio num túnel. Aproveitando uma oportunidade, atravessei; mergulhei numa passagem escura e entrei no local onde
costumava cortar o cabelo. Recostei a cabeça e colocaram-me uma toalha em volta do pescoço. Havia espelhos por toda a parte e neles via reflectir-se o meu corpo
atado e as pessoas que passavam, ora parando ora olhando, acabando por se afastar, indiferentes. O barbeiro começou a mover a tesoura para a frente e para trás.
Sentia-me impotente para parar as oscilações produzidas pelo aço frio. Disse para comigo que era assim que somos ceifados e dispostos em feixes; ficando deitados
lado a lado nos prados úmidos – ramos murchos e hastes em flor. Deixamos de ter necessidade de nos expor ao vento e à neve; de nos mantermos direitos quando a tempestade
se abate sobre nós; de carregar nos ombros o fardo que nos compete; ou de permanecer calados nos dias de Inverno, quando as aves se encostam ao tronco e a umidade
cobre as folhas de branco. Somos cortados; caímos. Tornamo-nos parte daquele universo oculto que dorme quando estamos ocupados e vai ao rubro quando dormimos. Renunciamos
ao nosso tempo, e agora jazemos no chão, murchos e prestes a ser esquecidos! Foi então que reparei que o barbeiro olhava para a rua como se lá fora houvesse algo
que o interessasse. O que lhe teria chamado a atenção? Que teria ele visto na rua? É este tipo de coisas que me desperta. (Dado não ser místico, tem de haver sempre
algo a me espicaçar – curiosidade, inveja, admiração, interesse pelo barbeiro.) Enquanto o homem escovava o meu casaco, eu sofria a bom sofrer para me assegurar
da sua identidade, e então, a baloiçar a bengala, fui até ao Strand, e, como que para me servir do pólo oposto, evoquei a imagem da Rhoda, sempre tão furtiva, sempre
com o medo reflectido nos olhos, sempre à procura de uma coluna no deserto. Acabei por descobrir que ela partira; que se suicidara. “Espera”, disse, imaginando (é
assim que comunicamos com os amigos) que lhe segurava o braço. “Espera até os autocarros passarem. Não atravesses dessa forma tão perigosa. Estes homens são teus
irmãos.” Ao tentar persuadi-la estou a tentar persuadir a minha própria alma. Pois o certo é que a vida não é só uma; nem sempre sei se sou homem ou mulher, se me
chamo Bernard, Neville, Louis, Susan, Jinny ou Rhoda – tão estranho é o contacto que mantemos uns com os outros. A abanar a bengala, com o cabelo acabado de cortar
e a nuca a arder, passei por todos aqueles tabuleiros de bonecos baratos importados da Alemanha, os quais são vendidos na rua, perto de St. Paul – St. Paul, a galinha
de asas abertas de onde, à hora de ponta, saem autocarros e rios compostos por homens e mulheres.
Imaginei o modo como o Louis subiria aqueles degraus, ele e o seu fatinho engomado, a bengala, e aquele porte sobranceiro. Com o seu sotaque australiano (“O
meu pai, um banqueiro de Brisbane”) o certo é que ele demonstraria possuir um respeito muito maior que o meu por todas estas cerimônias antigas, eu, que ouço as
mesmas canções de embalar há mais de um milhar de anos. Sempre que entro, deixo-me impressionar pelos rostos bem esfregados e bronzes polidos; pela música e pelos
cânticos, pela voz de rapaz que se eleva nos ares como se de uma pomba perdida se tratasse. A paz dos mortos impressiona-me – trata-se de guerreiros repousando à
sombra dos seus velhos estandartes. É então que me dá para zombar dos arabescos absurdos de um túmulo qualquer, bem assim como das trombetas, vitórias e armaduras,
já para não falarmos da certeza, tão sonoramente repetida, da ressurreição e da vida eterna. O meu olhar ocioso e inquiridor mostra-me então uma criança dominada
pelo medo; um reformado que caminha com dificuldade; ou as genuflexões das caixeirinhas que, esmagadas pelo peso de sabe-se lá que sofrimento, vieram aqui procurar
algum consolo.
Olho e interrogo-me, e, por vezes, um pouco às escondidas, tento servir-me das orações alheias para ultrapassar a cúpula e acompanhá-las ainda mais, além,
seja lá para onde elas forem. É então que, à semelhança daquela pomba perdida, vejo-me esvoaçar, perder altura, e acabar por cair em cima de uma qualquer gárgula,
num qualquer nariz partido ou numa tumba ridícula, tudo isto sem perder o sentido de humor e espanto. Volto então a ver os que por ali andam empunhando os roteiros,
enquanto a voz do rapaz acaba por azedar, e o órgão de vez em quando deixa escapar uma nota demasiado aguda, demasiado triunfal. Nesse caso, perguntei, como nos
conseguiria o Louis encerrar a todos aqui dentro? Como nos conseguiria ele comprimir, transformando-nos num único ser, servindo-se para isso de um frasco de tinta
vermelha e de um aparo de excelente qualidade? A voz como que se escapou pela cúpula, a gemer.
Voltei à rua a abanar a bengala e a olhar para os expositores de metal das vitrinas, para os cestos de frutas oriundas das colônias, e a murmurar disparates
do estilo: “Escutar, escutar, ouvir os cães a ladrar” ou “A idade de ouro do mundo está prestes a começar” ou “Vem, vem, morte” – misturando parvoíces com poesia,
flutuando na corrente. Há sempre uma qualquer coisa que tem de ser feita a seguir. Depois da segunda vem a terça, depois a quarta e a quinta. Cada dia espalha a
mesma onda. O ser começa a criar anéis. É como se fosse uma árvore.
E, tal como acontece com estas, as suas folhas também caem. O certo é que, certo dia, quando me encostei a um portão que dava para um campo, o ritmo parou,
o mesmo se passando com as rimas e as canções, os disparates e a poesia. Criou-se um espaço vazio na mente. Vi através das folhas espessas do hábito.
Encostado ao portão, lamentei a existência de tantas ninharias, de tantas coisas que ficaram por fazer, do facto de a vida estar cheia de compromissos, nos
impedir de atravessar Londres para visitar um amigo, ou de apanhar um navio, rumo à Índia e ver um homem nu arpoando os peixes que vivem nas águas azuis. Disse que
a vida fora imperfeita, uma espécie de frase por terminar. Fora-me impossível (pois não é verdade que aceito partilhar o tabaco que qualquer caixeiro-viajante me
oferece no comboio?) ser coerente – manter o sentido das gerações que se sucedem, das mulheres que transportam ânforas vermelhas até ao rio Nilo, do rouxinol que
canta entre conquistas e migrações. Comentei que o empreendimento fora demasiado grande, e isso impossibilitava-me de continuar a levantar os pés de forma a conseguir
subir a escada. Falei comigo mesmo do mesmo modo que o teria feito em relação a um companheiro com quem viajasse rumo ao pólo Norte. Falei com aquele “eu” que me
tem acompanhado em tantas e incríveis aventuras; o homem fiel que se senta junto à lareira a atiçar o lume quando já todos se foram deitar; o homem que se foi formando
de forma tão misteriosa através de súbitos acréscimos do ser, ora junto a um salgueiro na margem de um rio ora encostado a um parapeito em Hampton Court; o homem
que se uniu em momento de urgência e bateu com a colher na mesa, ao mesmo tempo que dizia: “Tal não consentirei!”. Inclinado por sobre aquele portão que dava para
uma série de prados onde as cores ondulavam, este ser não me respondeu. Não me ofereceu oposição. Não tentou construir qualquer frase. Nem sequer cerrou os punhos.
Esperei. Escutei. Nada surgiu, nada. Possuído pela sensação de ter sido abandonado, soltei um grito. Agora, nada mais existe. Não há barbatana que quebre a fixidez
deste mar imenso. A vida destruiu-me. As palavras que digo já não têm qualquer eco. De facto, trata-se de uma morte bem mais verdadeira que a dos amigos, que a da
juventude. Sou a figura enfaixada de barbearia, e ocupo pouquíssimo espaço. A cena que se estendia a meus pés como que secou. Foi como um eclipse, como se o Sol
se tivesse ido embora e deixasse a terra, antes resplandecente de folhagem verde, seca, murcha. Para mais, vi que na estrada poeirenta o vento fazia dançar os grupos
que antes formávamos, a forma como se juntavam, comiam junto, se encontravam nesta ou naquela sala. Vi a minha própria diligência infatigável – o modo como corria,
daqui para ali, pegava e transportava, viajava e regressava, me juntava a este grupo e depois àquele, aqui beijando, ali partindo; sempre em movimento devido a um
qualquer objectivo extraordinário, com o nariz colado ao chão como um cão farejando um odor; por vezes, virando a cabeça, por vezes soltando um grito de espanto
ou desespero, tudo para voltar a poisar o nariz no trilho. Que desordem – que confusão; aqui com um nascimento; ali com uma morte; suculência e doçura; esforço e
angústia; e eu sempre a correr de um lado para o outro. Finalmente, tudo terminara. Já não tinha mais apetites para saciar; não mais ferrões com os quais podia envenenar
as pessoas; sem dentes nem garras afiadas, sem o desejo de sentir o formato das uvas e das pêras, e de ver o sol bater nos muros do pomar. Os bosques desapareceram;
a terra nada mais era que um nevoeiro de sombras. Som algum quebrava o silêncio da paisagem invernosa. Galo algum cantava; o fumo deixara de subir nos ares; os comboios
estavam parados. “Um homem sem eu”, disse. Um corpo pesado encostado a um portão. Um homem morto. Com um desespero apaixonado, com a maior das desilusões, examinei
a dança do pó; a minha vida, a vida dos meus amigos, e ainda as presenças fabulosas de homens com vassouras, mulheres a escrever, o salgueiro junto ao rio – nuvens
e fantasmas também eles feitos de pó, de um pó sempre em mudança, mais ou menos como as nuvens se unem e afastam, adquirem reflexos dourados e vermelhos, e perdem
os contornos inclinando-se nesta ou naquela direcção, volúveis, fúteis. Eu, agarrado ao bloco de apontamentos, sempre a construir frases, limitara-me a registrar
simples mudanças; uma sombra. Mostrara-me pronto a registrar sombras. Perguntei-me como iria continuar sem “eu”, sem peso e sem visão, através de um mundo sem peso
e sem ilusões. O peso do meu desânimo abriu a porta onde me apoiava e empurrou-me, a mim, um homem de idade cheio de cabelos brancos e bastante pesado, em direcção
a um campo vazio, sem qualquer cor.
O objectivo desta viagem não era ouvir ecos, ver fantasmas, chamar opositores, mas apenas caminhar sem ter qualquer sombra a me encobrir, não deixando marcas
na terra morta. Se ao menos ali houvesse um carneiro a ruminar, a arrastar uma pata atrás da outra, um pássaro ou um homem enterrando uma pá no solo, se ao menos
ali houvesse um espinheiro para me prender, ou uma fossa repleta de folhas úmidas onde pudesse cair – mas não, o carreiro melancólico não possuía qualquer desnível,
seguindo sempre através da mesma paisagem invernosa, pálida, e sem qualquer interesse. Assim sendo, como é que a luz regressa ao mundo depois de um eclipse solar?
Por milagre. Aos poucos. Em faixas muito estreitas. O outro fica suspenso como se fosse uma redoma de vidro. É um círculo que qualquer pequeno toque pode quebrar.
Surge ali uma pequena cintilação, de pronto abafada por um qualquer tom pálido. Segue-se um vapor, como se a terra estivesse a respirar pela primeira vez. Então,
no meio de toda aquela melancolia, alguém caminha envolto numa luz verde. Adeus fantasma branco! Os bosques são percorridos por frêmitos azuis e verdes, e, aos poucos,
os campos ficam inundados de vermelhos, dourados e castanhos. De súbito, há uma luz azul que se eleva das margens do rio. A terra absorve a cor como se de uma esponja
a beber água devagar se tratasse. Ganha peso; arredonda-se; fica como que pendurada; assenta e baloiça suavemente a nossos pés. E assim a paisagem acabou por me
ser devolvida; vi os campos serem submersos por ondas de cor, mas desta feita com uma diferença: via mas não era visto. Caminhava a descoberto; nada me denunciava.
Deixara cair a velha capa, as velhas réplicas, a mão oca que produzia sons. Esguio como um fantasma, sem deixar marcas no solo por onde caminhava, apenas me apercebendo
das coisas, percorria sozinho um mundo nunca antes percorrido; roçando flores desconhecidas; incapaz de articular qualquer outra palavra para além dos monossílabos
próprios das crianças; sem o abrigo das frases – eu, que tantas construí sem qualquer companhia, eu, sempre rodeado de colegas; solitário, eu, que sempre tive alguém
com quem partilhar a grade vazia ou o armário com o seu puxador dourado. Mas como descrever um mundo que é visto sem um “eu”? Não existem palavras. Azul, vermelho
– até mesmo eles distraem, até mesmo eles impedem a passagem da luz.
Como voltar a descrever ou a dizer qualquer coisa servindo-me de palavras artificiais? – excepto aquilo que se esbate, aquilo que sofre uma transformação gradual,
acabando por se transformar, mesmo no decorrer deste curto passeio. A cegueira regressa à medida que as folhas se vão repetindo. A ternura regressa à medida que
olhamos, e com ela todo um comboio de frases-fantasmas. Respira-se cada vez com mais facilidade; lá em baixo, no vale, o comboio atravessa os campos envoltos em
fumo. Todavia, houve uma altura em que me sentei na relva num qualquer ponto acima do nível do mar e do som dos bosques, e vi a casa, o jardim, as ondas a se desfazerem.
A velha ama que virava as páginas do livro de gravuras parou e disse: “Olha. Isto é verdade”. E assim pensava eu esta noite, ao descer Shaftesbury Avenue. Pensava
naquela página do livro de gravuras. Foi então que te encontrei no sítio onde se vai pendurar o casaco e disse para comigo: “Não interessa quem se conhece. Esta
história de ser já terminou. Não sei de quem se trata nem me interessa saber; jantaremos juntos”. Foi então que pendurei o casaco, te dei uma pancadinha no ombro
e disse: “Anda, vem sentar-te junto a mim”. A refeição já terminou; estamos rodeados de cascas e côdeas.
Tentei quebrar este ramo e oferecer-to, mas não faço a mínima ideia se nele existe alguma verdade ou conteúdo. Para falar com franqueza, nem sei muito bem
onde nos encontramos. Que cidade contemplará aquele pedaço de céu? Será Paris, Londres, ou antes uma cidade do Sul, repleta de casas de um rosa desmaiado colocadas
à sombra dos ciprestes e de altas montanhas sobrevoadas por águias? De momento, não tenho a certeza. Começo agora a esquecer; começo a duvidar da rigidez das mesas,
da realidade do aqui e agora, e a bater com os nós dos dedos nos contornos dos objectos aparentemente sólidos, dizendo: “És mesmo duro?”. Vi tantas coisas, construí
tantas frases diferentes. Perdi-me no processo de comer, beber, e esfregar os olhos contra as superfícies finas e duras que cercam a alma, as quais, e durante a
juventude, nos impedem de sair – daí a falta de remorsos e a violência característica dos jovens. Chegou agora a hora de perguntar: “Quem sou eu?”. Outra coisa não
fiz até agora senão falar a respeito do Bernard, do Neville, da Jinny, da Susan, da Rhoda e do Louis. Serei eu todos eles? Serei uma criatura individual e distinta?
Não sei. Houve um tempo em que nos sentávamos juntos. Mas agora o Percival e a Rhoda estão mortos; estamos divididos; não estamos aqui. Mesmo assim, sou incapaz
de encontrar qualquer obstáculo a nos separar. Não existem divisões entre eu e eles. À medida que falava, sentia que “eu sou vocês”. Conseguira ultrapassar esta
divisão que tanto fazemos, esta identidade que adoramos com tanto fervor. Sim, quando a velha Mrs. Constable levantou a esponja e, derramando água sobre mim, me
cobriu a carne, o facto tornou-me ultra-sensível. Sinto na testa o golpe que provocou a morte do Percival. Aqui, na nuca, está a marca do beijo que a Jinny deu ao
Louis. Tenho os olhos cheios com as lágrimas da Susan. Lá ao longe, estremecendo como de uma teia dourada se tratasse, vejo a coluna que a Rhoda via, e sinto a deslocação
de ar provocada por ela quando se atirou. É assim que para moldar a história da minha vida e te a apresentar como algo completo, tenho de me lembrar de coisas há
muito ocorridas, afundadas nesta ou naquela vila, nela se fixando; de sonhos, dos objectos que me rodeavam, e dos seres que em mim habitam, esses velhos fantasmas
semi-articulados que não param de me assombrar de noite e de dia; que se agitam durante o sono, que emitem gritos confusos, que estendem os dedos fantasmagóricos
e me agarram sempre que tento escapar – sombras de potenciais seres humanos; seres que não chegaram a nascer. Claro que não me posso esquecer do velho bruto, do
selvagem, do homem coberto de pêlo, que se entretém a brincar com entranhas; que devora e arrota; cujo discurso é gutural, visceral – bom, ele também existe e vive
em mim. Esta noite alimentou-se de codornizes, salada, e timo de vitela. De momento, tem entre as garras um copo de brandy velho. À medida que bebo, vai ronronando
de satisfação. Sim, é verdade que lava as mãos antes de jantar, mas mesmo assim estas continuam peludas. Abotoa calças e coletes, mas estes contêm os mesmos órgãos.
Faz birras se não lhe dou de jantar.
Não pára de fazer caretas e de apontar com gestos semi-idiotas de cobiça e ganância que o caracterizam para tudo o que deseja. Garanto-vos que, por vezes,
tenho dificuldade em o controlar. Aquele homem, peludo e semelhante a um macaco, tem dado a sua regular contribuição na minha vida. Deu um brilho ainda mais verde
às coisas que já o eram, levantou a sua tocha vermelha e fumarenta por detrás de todas as folhas.
Chegou mesmo a iluminar todo o jardim. Brandiu o archote em algumas vielas sórdidas onde de súbito as raparigas pareciam brilhar com uma transparência avermelhada.
Oh, o certo é que elevou bem alto a sua chama! O certo é que me fez entrar em danças selvagens! Mas agora acabou-se. Esta noite o meu corpo ergue-se como se de um
templo se tratasse, um templo coberto de tapetes, onde os murmúrios se elevam e o incenso arde nos altares.
Tenho a cabeça recheada de belas melodias e vagas de incenso, isto enquanto a pomba perdida esvoaça, os pendões ondulam por sobre as tumbas, e os ventos escuros
da meia-noite fazem as árvores bater contra as janelas. Vistas deste plano transcendente, como são belas as côdeas de pão! Que perfeitas são as espirais produzidas
pelas cascas das pêras – de tão finas e sofisticadas, chegam mesmo a lembrar os ovos de uma qualquer ave marinha. Até mesmo os garfos, dispostos lado a lado de forma
ordenada, têm uma aparência lúcida, lógica, exacta; e as côdeas que deixamos são duras, lustrosas, amareladas. Seria capaz de adorar a minha própria mão, este leque
atravessado por pequenos veios azuis e misteriosos, um instrumento incrivelmente habilidoso, possuidor da capacidade subtil de se curvar com doçura ou de se deixar
cair com violência – algo de grande sensibilidade. Receptivo até mais não, tudo guardando, saciado, e, no entanto, tão lúcido, contido – assim é o meu ser agora
que o desejo o abandonou; agora que a curiosidade não o tinge de mil e uma cores. Agora que o homem a quem chamavam Bernard morreu, o homem que trazia no bolso uma
agenda onde anotava todo o tipo de frases – frases para a Lua, notas a respeito de feições; do modo como as pessoas se viravam e deixavam cair a ponta dos cigarros;
a letra B para “pó de borboleta”, a letra M para nomear a morte – este ser está como que esquecido e imune a tudo. Mas agora talvez não seja má ideia deixar que
a porta se abra, a porta de vidro que não pára de girar nas dobradiças. Deixem entrar uma mulher, deixem sentar-se um jovem de bigode, vestido a rigor. Poderão eles
dizer-me alguma coisa? Não! Já conheço tudo isto. E se ela se levantar de repente e partir, direi: “Minha cara, já não te persigo mais”. O choque provocado pelas
ondas quebrando-se contra a praia, o qual toda a vida escutei, deixou de fazer estremecer o que seguro. Agora, depois de ter assumido o mistério das coisas, posso
espiar tudo o que me apetece sem ser obrigado a abandonar este lugar, ou mesmo a levantar-me da cadeira. Posso visitar as fronteiras mais remotas dos desertos, onde
os selvagens se juntam às fogueiras. O dia vai nascendo; a rapariga eleva as jóias faiscantes à altura da fronte; os raios de sol incidem directamente na casa adormecida;
as ondas aprofundam as barras e como que se atiram de encontro à praia; a espuma voa; as águas acabam por rodear o barco e as algas. As aves cantam em coro; cavam-se
túneis profundos por entre os caules das flores; a casa adquire uma coloração pálida; o ser adormecido espreguiça-se; aos poucos, tudo se começa a mover. A luz inunda
o quarto e faz recuar as sombras até um ponto em que elas se dobram e quase desaparecem. Que estará contido na sombra central? Algo? Coisa nenhuma? Não sei. Oh,
mas eis que surge o teu rosto! Eu, que estivera a pensar a meu respeito em termos tão vastos, comparando-me a um templo, a uma igreja, a todo o universo, sem possuir
limites e com capacidade para estar no limite das coisas como estou aqui, afinal não passo daquilo que vês – um homem idoso, pesado, de cabelos brancos, que (estou
a ver-me ao espelho) apóia o cotovelo na mesa e segura na mão esquerda um copo de brandy velho. Foi então este o golpe que me preparaste?! Acabei por bater contra
um poste. Não paro de girar de um lado para o outro. Levo as mãos à cabeça. Estou sem chapéu – deixei cair a bengala. Fiz figuras tristes e agora qualquer um pode
troçar de mim. Meu Deus, como a vida é nojenta! Que partidas sujas nos prega, concedendo-nos a liberdade num momento para logo a seguir nos fazer isto! Cá estamos
nós de volta às côdeas e aos guardanapos manchados. Aquela faca está cheia de gordura congelada. A desordem, a sordidez e o caos rodeiam-nos.
Temos estado a levar à boca corpos de aves mortas. Somos feitos de pedaços de gordura limpos aos guardanapos, e pequenos cadáveres. Tudo regressa ao ponto
de partida; o inimigo está sempre presente; olhos que nos fitam; dedos que nos apertam; o esforço à nossa espera. Chama o criado. Paga a conta. Temos de nos levantar.
Temos de encontrar os casacos. Temos de partir. Temos, temos, temos – que palavra detestável. Mais uma vez, eu, que me julgara imune, que dissera: “Agora, estou
livre de tudo”, descubro que a onda se abateu contra mim, espalhando tudo o que possuía, deixando-me o trabalho de voltar a juntar e a montar as peças, a reunir
forças, a me erguer e a confrontar o inimigo. É estranho como nós, capazes de tanto sofrer, somos capazes de provocar tanto sofrimento. É estranho como o rosto de
alguém que mal conheço e que me lembra vagamente uma pessoa que conheci na prancha de embarque de um navio prestes a partir para África – um simples esboço composto
por olhos, maçãs do rosto e narinas – tenha poder para me infligir semelhante insulto. Olhas, comes, sorris, aborreces-te, estás satisfeito, perturbado – é tudo
o que sei. Porém, esta sombra sentada à minha frente há já uma ou duas horas, esta máscara por onde espreitam dois olhos, tem poder para me fazer recuar, para me
fechar num compartimento quente; para me fazer andar de um lado para o outro como uma borboleta por entre as lâmpadas. Mas espera. Espera um pouco enquanto a conta
não chega. Agora que já te insultei por me teres desferido um golpe que me fez cambalear por entre cascas, côdeas e bocados de carne, registrarei em palavras de
uma sílaba o modo como o teu olhar me faz aperceber disto, daquilo, e de tudo o mais. O relógio faz tiquetaque; a mulher espirra; o criado chega – as coisas vão-se
juntando aos poucos, transformando-se num só objecto.
Verifica-se um processo de aceleração e unificação. Escuta: soa um apito, as rodas giram, as dobradiças da porta gemem. Recupero o sentido da complexidade,
da realidade e da luta, e devo agradecer-te por isso. E é com alguma pena e inveja, e também com muito boa vontade, que te aperto a mão e te digo adeus. Deus seja
louvado por esta solidão! Estou só. Aquele indivíduo quase desconhecido já partiu, talvez tenha ido apanhar um comboio ou um táxi e se dirija agora para um qualquer
lugar onde o espera uma pessoa que não conheço. Desapareceu aquela cara que não parava de me olhar. A pressão deixou de se fazer sentir. Aqui só existem chávenas
de café vazias e cadeiras onde ninguém se senta. Aqui só existem mesas vazias e ninguém jantará nelas esta noite. Deixem-me entoar o meu cântico de glória. Que o
céu seja louvado pela bênção da solidão. Deixem-me estar só. Deixem-me atirar para longe este véu do ser, esta nuvem que muda ao ritmo da respiração, consoante seja
dia ou noite e durante todo o dia e toda a noite. Mudei enquanto estive sentado. Vi o céu mudar. Vi as nuvens cobrirem-se de estrelas e libertarem-nas para de novo
as cobrirem. Deixei de ver as alterações por elas sofridas. Ninguém me vê e também eu deixei de mudar. Que o céu seja louvado por ter removido a pressão do olhar,
a solicitação do corpo, e toda a necessidade de mentiras e frases. O meu bloco-notas, coberto de frases, caiu ao chão. Está debaixo da mesa, pronto a ser varrido
pela mulher da limpeza que costuma aqui chegar ao nascer do dia, disposta a varrer todos os pedaços e bolas de papel, velhos bilhetes de eléctrico, e todos os detritos
que ficaram na sala. Qual a frase para a Lua? E a frase do amor? Por que nome deveremos chamar a morte? Não sei. Necessito de uma linguagem semelhante à dos amantes,
de palavras de uma só sílaba iguais às que as crianças usam quando entram numa sala e encontram a mãe a coser, pegando então num pedaço de lã colorida, numa pena,
ou num quadrado de chita. Necessito de um uivo, de um grito. Quando a tempestade atravessa o pântano e me apanha a descoberto na vala onde me encontro, não preciso
de palavras nem de nada arrumadinho. Não quero nada que venha do ar e poise no solo com toda a força, não quero nenhuma das ressonâncias e ecos que nos vibram ao
longo dos nervos e se transformam em música selvagem e em frases falsas. Estou farto de frases. O silêncio é bem melhor; a chávena de café, a mesa. É bem melhor
sentar-me sozinho, como uma gaivota solitária que se empoleira num poste e abre as asas a todo o comprimento.
Deixem-me ficar aqui para sempre com todos estes objectos nus, esta chávena, esta faca, este garfo, tudo coisas em si mesmas, eu próprio nada mais sendo que
eu próprio. Não me venham perturbar com essa história de que está na hora de fechar e partir. De boa vontade vos daria todo o dinheiro que possuo para me deixarem
ficar em paz e em silêncio, sozinho, sozinho para sempre. É então que o chefe dos empregados, que só agora acabou de jantar, aparece e franze o sobrolho. Tira o
cachecol do bolso, e prepara-se para partir. Todos têm de partir; têm de correr as persianas, dobrar as toalhas e passar a rodilha molhada por baixo das mesas. Malditos
sejam! Por muito abatido que esteja, tenho de me levantar, encontrar o casaco que me pertence, enfiar os braços nas mangas, agasalhar-me contra o frio da noite e
partir.
Eu, eu, eu, cansado e gasto de tanto esfregar o nariz contra a superfície das coisas, até mesmo eu, um homem velho e gordo, que não gosta de praticar esforços,
me vejo forçado a sair e a apanhar o último comboio. Volto a ver a rua do costume. O brilho da civilização como que se gastou. O céu apresenta-se escuro e polido
como um osso de baleia. Contudo, há nele uma espécie de luz que tanto pode provir de um candeeiro como do alvorecer. Sinto uma espécie de agitação – algures, numa
árvore baixa, os pardais chilreiam. Paira no ar a sensação de que o dia vai nascer. Não lhe chamaria alvorada. Qual o significado de uma alvorada na cidade para
um homem velho, parado no meio da rua e a olhar meio tonto para o céu? A alvorada é uma espécie de empalidecer do céu; uma espécie de renovação. Um outro dia, uma
outra sexta-feira, um outro vinte de Março, Janeiro ou Setembro. Um outro despertar geral. As estrelas recolhem-se e extinguem-se.
As barras tornam-se mais profundas por sobre as ondas. Um filtro de nevoeiro adensa-se por sobre os campos. O vermelho condensa-se nas rosas, até mesmo naquela
bastante pálida, por cima da janela do quarto. Um pássaro chilreia. Os lavradores acendem as primeiras velas. Sim, trata-se do eterno renascer, de uma incessante
ascensão e queda. Sinto que até mesmo para mim a onda se eleva. Incha, dobra-se. Tomo consciência de um novo desejo, de qualquer coisa que se ergue em mim como um
cavalo orgulhoso, cujo montador esporeou antes de obrigar a parar. Que inimigo vemos avançar em direcção a nós, tu, a quem agora monto enquanto desço este caminho?
a morte. É ela o inimigo. É contra a morte que ergo a minha lança e avanço com o cabelo atirado para trás, tal como se este pertencesse a um jovem, ao Percival a
galopar na Índia. Esporeio o cavalo. É contra ti que me lanço, resoluto e invencível, Morte!
As ondas quebram-se na praia.
O Sol ainda não nascera. Era quase impossível distinguir o céu do mar, mas este apresentava algumas rugas, como se de um pedaço de tecido se tratasse. Aos poucos, à medida que o céu clareava, uma linha escura estendeu-se no horizonte, dividindo o céu e o mar. Então, o tecido cinzento coloriu-se de manchas em movimento, umas sucedendo-se às outras, junto à superfície, perseguindo-se mutuamente, sem parar.
Quando se aproximavam da praia, as barras erguiam-se, empilhavam-se e quebravam-se, espalhando na areia um fino véu de água esbranquiçada. As ondas paravam e depois voltavam a erguer-se, suspirando como uma criatura adormecida, cuja respiração vai e vem sem que disso se aperceba. Gradualmente, a barra escura do horizonte acabou por clarear, tal como acontece com os sedimentos de uma velha garrafa de vinho que acabam por afundar e restituir à garrafa a sua cor verde. Atrás dela, o céu clareou também, como se os sedimentos brancos que ali se encontravam tivessem afundado, ou se um braço de mulher oculto por detrás da linha do horizonte tivesse erguido um lampião e este espalhasse raios de várias cores, branco, verde e amarelo (mais ou menos como as lâminas de um leque), por todo o céu. Então, ela levantou ainda mais o lampião, e o ar pareceu tornar-se fibroso e arrancar, daquela superfície verde, chispas vermelhas e amarelas, idênticas às que se elevam de uma fogueira.
Aos poucos, as fibras da fogueira foram-se fundindo numa bruma, uma incandescência que levantou o peso do céu cor de chumbo que se encontrava por cima, transformando-o num milhão de átomos de um azul suave. O mar foi, aos poucos, tornando-se transparente, e as ondas ali se deixavam ficar, murmurando e brilhando, até as faixas escuras quase desaparecerem. Devagar, o braço que segurava a lanterna elevou-se ainda mais, até uma chama brilhante se tornar visível; um arco de fogo ardendo na margem do horizonte, cobrindo o mar com um brilho dourado.
A luz atingiu as árvores do jardim, tornando, primeiro, esta folha transparente, e só depois aquela. Lá no alto, uma ave chilreou; seguiu-se uma pausa; mais abaixo, escutou-se outro chilreio. O sol definiu os contornos das paredes da casa, e, semelhante à ponta de um leque, um raio de luz incidiu numa persiana branca, colocando uma impressão digital azulada por baixo da folha da janela do quarto. A persiana estremeceu ligeiramente, mas lá dentro tudo se mostrava fosco e inconsistente.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/AS_ONDAS.jpg
Cá fora, os pássaros cantavam uma melodia sem sentido.
– Vejo um anel – disse Bernard – suspenso por sobre mim. – Está suspenso num laço de luz e estremece.
– Vejo uma lâmina de um amarelo pálido – disse Susan –, espalhando-se até encontrar uma risca púrpura.
– Ouço um som – disse Rhoda –, piu, piu, piu, piu, a subir e a descer.
– Vejo um globo – disse Neville – suspenso numa gota que cai de encontro à encosta de uma enorme montanha.
– Vejo uma borboleta escarlate – disse Jinny –, tecida com fios de ouro.
– Ouço cascos a bater – disse Louis. – Está preso um animal bastante grande. Bate os cascos, bate e bate.
– Reparem na teia de aranha ao canto da varanda – disse Bernard. – Está cheia de contas de água, de gotas de luz.
– As folhas juntaram-se em torno da janela como se fossem orelhas pontiagudas – disse Susan.
– Há uma sombra no caminho -– disse Louis. – Parece um cotovelo dobrado.
– A erva está cheia de linhas luminosas – disse Rhoda. – De certeza que caíram das árvores.
– Nos túneis existentes entre as folhas, podem ver-se olhos brilhantes. São de pássaros – disse Neville.
– As hastes estão cobertas de pêlos curtos e duros – disse Jinny – e as gotas de água ficam presas neles.
– Uma lagarta enroscou-se e parece um anel de onde saem muitos pés verdes – disse Susan.
– Um caracol cinzento vem a descer o caminho, alisando as ervas atrás dele – disse Rhoda.
– E as luzes das janelas reflectem-se aqui e ali na relva – disse Louis.
– As pedras fazem-me ficar com os pés frios – disse Neville. – Sinto-as a todas, uma a uma, redondas e pontiagudas.
– Tenho as costas das mãos quentes – disse Jinny –, mas as palmas estão pegajosas e úmidas por causa do orvalho.
– Agora, o galo está a cantar e lembra um esguicho de água avermelhada numa corrente branca – disse Bernard.
– Os pássaros não param de cantar à nossa volta e por todo o lado – disse Susan.
– O animal bate as patas; o elefante com a perna presa; o enorme animal que está na praia bate os cascos – disse Louis.
– Reparem na casa – disse Jinny –, com todas as janelas e persianas brancas.
– A água fria começa a correr na torneira da cozinha – disse Rhoda –, caindo no peixe que está na bacia.
– As paredes estão cheias de rachas douradas – disse Bernard –, e por baixo das janelas há muitas sombras azuis em forma de dedos.
– Agora, Mrs. Constable está a colocar as suas meias escuras e grossas – disse Susan.
– Quando o fumo se elevar na chaminé, o sono escapar-se-á pelo telhado como uma névoa muito fina – disse Louis.
– Os pássaros começaram por cantar em coro – disse Rhoda. – Agora, a porta da cozinha já não está trancada. E lá vão eles a voar. E lá vão eles pelos ares
como uma mão-cheia de sementes. Mesmo assim, há um que continua a cantar junto à janela do quarto.
– Formam-se bolhas no fundo da frigideira – disse Jinny – Depois, elevam-se, cada vez mais rápidas, até formarem uma cadeia prateada que chega ao topo.
– Agora, o Billy está a escamar o peixe com uma faca – disse Neville.
– A janela da casa de jantar é agora azul-escura – disse Bernard –, e o ar ondula por cima das chaminés.
– Uma andorinha está empoleirada no fio eléctrico – disse Susan. – E a Biddy poisou o balde com força nas lajes da cozinha.
– Aquilo era a primeira badalada do relógio da igreja – disse Louis. – A seguir vêm as outras; uma, duas; uma, duas.
– Olhem para a toalha, muito branca, a voar para cima da mesa – disse Rhoda. – Vêem-se, agora, os círculos de porcelana branca e faixas prateadas ao lado dos
pratos.
– De repente, uma abelha zumbe ao meu ouvido – disse Neville. – Está aqui; já se foi embora.
– Estou a ferver. Tenho frio – disse Jinny. – Ou estou ao sol ou à sombra.
– Já se foram todos embora – disse Louis. – Estou só. Foram para casa tomar o pequeno-almoço, e eu fiquei ao pé do muro, entre as flores. Ainda é cedo, falta
muito tempo para ir para as aulas. As flores são como manchas incrustadas nas profundezas verdes. As pétalas são arlequins. As hastes erguem-se a partir de buracos
negros. As flores, semelhantes a peixes luminosos, recortando-se contra um fundo escuro, nadam nas águas verdes. As minhas raízes chegam às profundezas do mundo;
passam por terrenos secos e alagados; passam por veios de chumbo e prata. Nada mais sou que fibra. Tudo me faz estremecer, e a terra comprime-se contra os meus veios.
Cá em cima, os meus olhos são como folhas verdes e não vêem. Cá em cima, sou um rapaz vestido de flanela cinzenta, com as calças apertadas por um cinto, com uma
serpente de bronze. Lá em baixo, os meus olhos são como os das figuras de pedra existentes nos desertos junto ao Nilo: desprovidos de pestanas. A caminho do rio,
vejo passar mulheres com as suas ânforas vermelhas; vejo camelos baloiçando-se e homens com turbantes. Ouço tropéis e tremores em meu redor.
Cá em cima, o Bernard, o Neville, a Jinny e a Susan (mas não a Rhoda) passeiam pelos canteiros com as suas redes. Andam a caçar as borboletas que poisam nas
flores. Estão a varrer a superfície do mundo. As redes estão cheias de asas esvoaçantes. “Louis! Louis! Louis!”, gritam. No entanto, não me podem ver. Estou do outro
lado da sebe. Existem apenas alguns buraquinhos entre as folhas. Oh, meu Deus, eles que passem! Eles que estendam um lenço no cascalho e nele coloquem as borboletas.
Eles que contem as suas borboletas com manchas pretas e amarelas, as suas vanessas e borboletas-da-couve, mas que não me vejam. Sou tão verde como um teixo à sombra
da vedação. Criei raízes no meio da terra. O meu corpo é um caule. Carrego no caule. Uma gota corre por ele lentamente, e, aos poucos, vai-se tornando maior, cada
vez maior. Agora, qualquer coisa cor-de-rosa passa pelo buraquinho. Agora, um olhar passa pela fenda. A luz que dele emana atinge-me. Sou um rapaz com um fato de
flanela cinzenta. Ela encontrou-me. Toca-me na nuca. Beija-me. Tudo se desmorona.
– Logo a seguir ao pequeno-almoço – disse Jinny –, eu andava a correr. Vi as folhas mexerem-se através de uma abertura na sebe. Pensei: É um pássaro no ninho.
Afastei os ramos e olhei, mas não vi pássaro nem ninho. As folhas continuaram a mover-se. Estava assustada. Passei a correr pela Susan, pela Rhoda, pelo Neville
e pelo Bernard. Estavam todos a falar na arrecadação. Gritei enquanto corria, depressa, cada vez mais depressa. Que faria mexer as folhas? Qual a coisa que faz mexer
o meu coração, as minhas pernas? Foi então que aqui cheguei e te vi, verde como um arbusto, como um ramo, muito quieto, Louis, com os olhos vítreos. Estará morto?,
pensei, e beijei-te. Por baixo do vestido cor-de-rosa, o meu coração saltava, semelhante às folhas, que, e muito embora nada exista que as faça mexer, não param
de oscilar. Agora, chega-me ao nariz o odor a gerânios; chega-me ao nariz o odor a terra vegetal. Danço. Ondulo. Deixo-me cair sobre ti como uma rede de luz. Deixo-me
ficar deitada em cima de ti, a tremer.
– Vi-a beijá-lo através da fenda na sebe – disse Susan. – Levantei a cabeça do vaso das flores e espreitei por uma fenda da sebe. Vi-a beijá-lo. Vi-os, à Jinny
e ao Louis, a beijarem-se. Agora, só me resta embrulhar a minha dor neste lenço. Vou amachucá-lo com força até ficar igual a uma bola. Antes das aulas, irei sozinha
para o bosque das faias. Não me irei sentar à mesa, a fazer contas. Não me irei sentar ao lado da Jinny e do Louis. Vou levar a minha angústia e poisá-la nas raízes,
por baixo das faias. Examiná-la-ei e passá-la-ei por entre os dedos. Eles não me irão encontrar. Comerei nozes e tentarei encontrar ovos por entre os espinheiros,
o meu cabelo vai ficar emaranhado, e acabarei por ter de dormir debaixo das sebes e de beber água das poças, acabando por morrer.
– A Susan passou por nós – disse Bernard. – Passou pela arrecadação com o lenço todo amachucado. Parecia uma bolsa. Não estava a chorar, mas os olhos, que
são tão bonitos, pareciam fendas. Lembravam os dos gatos quando eles se preparam para saltar. Vou atrás dela, Neville. Vou atrás dela com todo o cuidado para, com
a minha curiosidade, a poder confortar quando toda aquela fúria explodir e ela pensar: “Estou sozinha”. Ela agora vai atravessar o campo com toda a calma, para nos
enganar. Já chegou ao declive: pensa que ninguém a vê; começa a correr com os punhos cerrados. As unhas cravam-se na bola em que o lenço se transformou. Vai na direcção
do bosque das faias, para longe da luz. Estende os braços quando se aproxima, e parte para a sombra como se nadasse. Porém, a luz deixa-a cega e acaba por tropeçar
e cair junto às raízes das árvores, onde a luz aparece e desaparece, inspira e expira. Os ramos movem-se para cima e para baixo. Aqui, a agitação é muita. As trevas
movem-se para cima e para baixo. Aqui, a agitação é muita. As trevas abundam. A luz é caprichosa. A angústia é omnipresente. As raízes formam como que um esqueleto
no solo, e as folhas mortas amontoam-se nos seus ângulos. A Susan espalhou toda a angústia que sentia. Poisou o lenço nas raízes das faias e soluça, dobrada sobre
si mesma no ponto onde caiu.
– Eu vi-a beijá-lo – disse Susan. – Espreitei por entre as folhas e vi-a. Estava a dançar, coberta de diamantes, leve como um grão de poeira. E eu sou gorda,
Bernard, e baixa. Os meus olhos nunca se levantam do chão e vejo insectos na erva. O tom quente e amarelo que estava junto a mim transformou-se em pedra quando viu
a Jinny beijar o Louis. De hoje em diante, vou passar a comer erva e acabarei por morrer junto a uma poça de água castanha, cheia de folhas podres.
– Vi-te fugir – disse Bernard. – Quando passaste pela arrecadação, ouvi-te gritar: “Sou tão infeliz!”. Poisei a faca. Estava a fazer barcos de madeira com
o Neville. Para mais, tenho o cabelo despenteado porque, quando a Mrs. Constable me disse para o pentear, havia uma mosca numa teia de aranha, e dei comigo a perguntar:
“Deverei soltar a mosca? Deverei deixá-la ser comida?”. É por isso que ando sempre atrasado. Tenho o cabelo despenteado e estes pauzinhos prenderam-se nele. Quando
te ouvi gritar, segui-te e vi-te poisar o lenço amarrotado, contendo toda a raiva e todo o ódio. No entanto, isso vai passar depressa. Os nossos corpos estão agora
juntos. Podes ouvir-me respirar. Podes também ver aquele escaravelho com uma folha às costas. Primeiro, vem neste sentido, depois, passa para aquele, e isso faz
com que o teu desejo de possuir uma coisa apenas (agora é o Louis) se veja obrigado a estremecer como a luz que se move por entre as folhas das faias; e por fim
as palavras, que agora se movem sombrias nas profundezas da tua mente, acabarão por quebrar este nó de dor enrolado no teu lenço.
– Amo – disse Susan –, amo e odeio. Desejo apenas uma coisa. O meu olhar é rígido. Dos olhos da Jinny desprendem-se milhares de luzes. Os da Rhoda assemelham-se
àquelas flores pálidas, onde as borboletas nocturnas vêm poisar. Os teus são grandes e redondos, e nunca se quebram. Mas eu já tenho um objectivo. Vejo insectos
na erva. Muito embora a minha mãe ainda me tricote meias brancas e me costure bibes, e eu não passe de uma criança, o certo é que amo e odeio.
– Mas, quando nos sentamos juntos – disse Bernard –, fundimo-nos um no outro com frases. Ficamos unidos por uma espécie de nevoeiro. Transformamo-nos num território
imaterial.
– Estou a ver o escaravelho – disse Susan. – É preto; estou a ver; é verde, estou a ver; as palavras amarram-me ao solo. Mas tu divagas, tu escapas-te; as
palavras e as frases por elas compostas elevam-se mais e mais.
– Bom – disse Bernard –, vamos partir à aventura. Há uma casa branca entre as árvores. Está mesmo lá no fundo. Vamo-nos afundar como dois nadadores, tocando
o solo com as pontas dos pés. Vamo-nos afundar através do ar esverdeado das folhas, Susan. Vamo-nos afundar enquanto corremos. As ondas fecham-se sobre nós, as folhas
das faias tocam-se por cima das nossas cabeças. Lá está o relógio do estábulo com os seus ponteiros dourados a brilhar. Aqueles ali são os altos e baixos dos telhados
da casa grande. O empregado da cavalariça, calçando umas botas de borracha, não pára de gritar no pátio. Estamos em Elvedon. Agora, caímos através das folhas das
árvores e chegamos ao chão. O ar já não faz rolar por cima de nós as suas vagas enormes, tristes e avermelhadas. Os nossos pés tocam o solo; pisamos terra firme.
Ali, está a sebe bem aparada do jardim das senhoras. É por ali que elas andam, ao meio-dia, munidas de tesouras, a cortar rosas. Agora, estamos no bosque em forma
de anel, rodeado por um muro. Estamos em Elvedon. Já tenho visto marcos nos cruzamentos a indicar o caminho para aqui, se bem que nunca ninguém cá tenha estado.
Os fetos têm um cheiro muito forte, e por baixo deles crescem fungos vermelhos. Acordamos as gralhas adormecidas que nunca antes viram uma forma humana; pisamos
bolotas apodrecidas, escorregadias e avermelhadas devido ao tempo. Há um círculo de pedra em redor deste bosque; nunca cá vem ninguém. Escuta! É o ruído provocado
por um sapo gigante a saltar; são as pinhas a cair por entre os fetos.
Põe o pé neste tijolo. Espreita por cima do muro. Aquilo ali é Elvedon. Há uma senhora sentada entre duas grandes vidraças, a escrever. Os jardineiros varrem
o jardim com duas grandes vassouras. Somos os primeiros a chegar aqui. Somos os descobridores de um território desconhecido. Não te mexas; os jardineiros disparam
se nos virem. Depois, pregam-nos na porta do estábulo como se fôssemos doninhas. Cuidado! Não te mexas. Agarra-te com força aos fetos que crescem em cima do muro.
– Vejo a senhora a escrever. Vejo os jardineiros a varrer – disse Susan. – Se morrermos aqui, não há ninguém para nos enterrar.
– Corre! – disse Bernard. – Corre! O jardineiro da barba preta já nos viu! Vamos morrer! Vão-nos matar como se fôssemos gaios e pregar-nos à parede! Estamos
em território hostil. Temos de fugir para o bosque das faias. Temos de nos esconder debaixo das árvores. Existe um caminho secreto. Dobra-te o mais que puderes.
Avança sem olhar para trás. Vão pensar que somos raposas. Corre!
Agora, estamos a salvo. Já nos podemos voltar a endireitar. Já podemos estender os braços no meio desta vegetação tão alta, no meio deste bosque tão grande.
Não ouça nada. Aquilo é o murmúrio das ondas do ar. Isto é o pombo-bravo que se escondeu no cimo das faias. O pombo agita o ar; o pombo agita o ar com as suas asas
de madeira.
– Estás-te a afastar – disse Susan –, tu e as tuas frases. Elevas-te nos ares como bolas de sabão, cada vez mais alto, por entre as camadas de folhas, até
acabares por desaparecer. Agora, demoras-te um pouco. Agora, puxas-me a saia, olhas para trás e constróis muitas frases. Acabaste por me escapar. Aqui, é o jardim.
Aqui, fica a sebe. Aqui, está a Rhoda no meio do carreiro, a embalar uma bacia castanha cheia de pétalas.
– Todos os meus navios são brancos – disse Rhoda. – Não quero nem as pétalas vermelhas das malvas nem sequer as dos gerânios. Quero apenas pétalas brancas
que flutuem quando inclino a taça. Tenho uma frota a vogar de margem a margem. Deixarei cair um ramo lá dentro, tal como se fosse uma jangada destinada a um náufrago.
Deixarei cair uma pedra lá dentro e ficarei a ver as bolhas erguerem-se das profundezas do mar. O Neville desapareceu e a Susan também; a Jinny está no jardim em
frente à cozinha a apanhar borboletas, e o mais provável é o Louis estar com ela. Tenho pouco tempo para estar só. A esta hora, a Miss Hudson está a espalhar os
livros pelas carteiras. Tenho pouco tempo para ser livre. Apanhei todas as pétalas caídas e pu-las a nadar. Pus gotas de chuva em algumas. Vou colocar um farol aqui.
Agora, vou embalar a minha taça castanha de um lado para o outro para que os meus navios possam cavalgar as ondas. Alguns afundar-se-ão. Outros despedaçar-se-ão
contra os rochedos. Mas há um que navega sozinho. É o que é verdadeiramente meu. Navega por cavernas geladas onde os ursos polares rosnam, e das estalactites pendem
correntes negras. As ondas elevam-se; as suas cristas enrolam-se; reparem nas luzes dos mastros principais. A frota separou-se e todos os navios naufragaram à excepção
do meu, que sobe as ondas e se antecipa à tempestade, alcançando as ilhas onde os papagaios tagarelam e as trepadeiras...
– Onde é que está o Bernard? – disse Neville. – É ele quem tem a minha faca. Estávamos na arrecadação a fazer barcos, e foi então que a Susan passou. O Bernard
deixou cair o barco e foi atrás dela com a minha faca, aquela que é muito afiada e serve para talhar as quilhas. Ele é como um fio muito esticado, sempre a estremecer.
É como as algas que estão penduradas do lado de fora da janela, ora úmidas ora secas. Deixa-me sozinho, vai atrás da Susan; e, se ela gritar, ele pega na minha faca
e conta-lhe histórias. A lâmina grande é um imperador; a lâmina quebrada um negro. Odeio coisas que estremecem; odeio coisas escorregadias. Odeio delírios e misturas.
A campainha está a tocar e vamos chegar atrasados. Temos de poisar os brinquedos. Temos de entrar ao mesmo tempo. Os livros estão arrumados lado a lado, em cima
da mesa forrada a baeta verde.
– Só conjugarei o verbo depois de o Bernard o ter dito – disse Louis. – O meu pai é banqueiro em Brisbane e eu falo com sotaque australiano. Vou esperar e
imitar o Bernard. Ele é inglês. Eles são todos ingleses. O pai da Susan é vigário. A Rhoda não tem pai. O Bernard e o Neville são filhos de cavalheiros. A Jinny
vive em Londres com a avó. Estão todos a morder as canetas. Agora, estão a virar os livros, e, olhando de esguelha para Miss Hudson, contam-lhe os botões vermelhos
do corpete. O Bernard tem um raminho no cabelo. Os olhos da Susan estão vermelhos. Ambos estão corados. Mas eu estou pálido; estou limpo; e as minhas calças de golfe
estão bem apertadas com um cinto com uma cobra de bronze. Sei a lição de cor. Sei mais do que aquilo que eles alguma vez saberão. Sei os casos e os gêneros; podia
aprender tudo e mais alguma coisa se quisesse. Mas eu não quero emergir e dizer a lição. Tal como fibras num vaso de flores, as minhas raízes enrolam-se em torno
do mundo. Não quero emergir e viver à luz deste enorme relógio amarelo que não pára de fazer tiquetaque-tiquetaque. A Jinny e a Susan, o Bernard e o Neville, juntam-se
e transformam-se numa correia pronta para me chicotear. Riem-se por eu ser tão arrumado, por falar com sotaque australiano. Vou tentar imitar o Bernard com os seus
ceceios em latim.
– Tratam-se de palavras brancas – disse Susan –, iguais às pedras que apanhamos à beira-mar.
– À medida que as pronuncio, batem como caudas, ora à esquerda ora à direita – disse Bernard. – Abanam as caudas; fazem-nas estalar; movem-se em bandos pelo
ar, agora nesta direcção, agora naquela, agora em conjunto, agora separando-se, agora voltando a juntar-se.
– São palavras que queimam, são palavras amarelas – disse Jinny. – Gostava de ter um vestido quente, um vestido amarelo, para usar à noite.
– Cada forma verbal – disse Neville –, tem um significado diferente. O mundo tem uma ordem; existem distinções; existem diferenças neste mundo em cuja margem
tropeço. Trata-se apenas do começo.
– A Miss Hudson acabou de fechar o livro – disse Rhoda. – Está a começar o terror. Agora, pega no giz e começa a desenhar números, seis, sete, oito, e depois
uma cruz e só então uma linha. Está tudo no quadro. Qual é a resposta? Os outros olham, olham com ar de quem compreende. O Louis escreve; a Susan escreve; o Neville
escreve; a Jinny escreve; até mesmo o Bernard começou agora a escrever. Todavia, eu não consigo. Apenas vejo números. Um a um, os outros vão entregando as respostas.
Chegou a minha vez. Só que não tenho respostas. Os outros tiveram autorização para sair. Deixaram-me sozinha para que encontrasse resposta. Os números não têm qualquer
sentido. O sentido desapareceu. O relógio faz tiquetaque. Os dois ponteiros são como caravanas a atravessar o deserto. As barras negras no mostrador são como oásis
verdes. O ponteiro maior antecipou-se para ir buscar água. O outro, dolorosamente, vai tropeçando por entre as pedras quentes. Acabará por morrer no deserto. A porta
da cozinha bate. Os cães vadios ladram lá longe. Reparem, a forma redonda do número começa a encher-se com o tempo; o mundo está todo lá contido. Comecei a traçar
um número, o mundo está lá dentro e eu estou fora do laço. Acabo por o fechar – assim – selando-o, tornando-o inteiro. O mundo está completo e eu estou de fora,
a gritar: “Oh, salvem-me, salvem-me de ser afastada para sempre do laço do tempo!”.
– Lá está a Rhoda a olhar para o quadro – disse Louis –, na sala. Enquanto isso, eu estou cá fora, a apanhar pedacinhos de tomilho e a apertar folhas de abrótano.
E o Bernard vai contando uma história. Tem as omoplatas unidas, e estas lembram as asas de uma pequena borboleta. À medida que olha para aqueles números feitos a
giz, a sua mente fica presa por entre os círculos brancos, até que acaba por se soltar dos laços e cair no vazio. Nada daquilo tem sentido para ela. Nada daquilo
tem sentido para ela. Nada tem para lhe responder. Ao contrário dos outros, ela não tem corpo. E eu, que falo com sotaque australiano e cujo pai é banqueiro em Brisbane,
não a receio como receio os outros.
– Vamos agora rastejar – disse Bernard – por baixo de toda esta vastidão de folhas de groselheira, e contar histórias. Vamos para o mundo subterrâneo. Vamos
tomar posse do território que nos pertence, o qual se encontra iluminado por cachos de groselhas semelhantes a candelabros, ora vermelhos ora negros. Aqui, Jinny,
se nos baixarmos bastante, podemos ficar sentados por baixo das folhas a ver baloiçar os turíbulos. Este é o nosso universo. Os outros passam lá ao longe, no caminho
das carruagens. As saias da Miss Hudson e da Miss Curry revolteiam como se fossem apagar a luz das velas. Aquelas são as meias brancas da Susan. Aqueles são os lindos
sapatos do Louis, pisando o cascalho. O cheiro quente das folhas em decomposição, da vegetação que apodrece, espalha-se pelos ares. Estamos agora num pântano, numa
floresta tropical. Está ali um elefante coberto de larvas brancas, morto por uma seta que o atingiu no olho. Vêem-se, claramente, os olhos brilhantes de algumas
aves – águias e abutres. Tomam-nos por árvores caídas. Precipitam-se por sobre um réptil – é uma cobra de capelo – e deixam-no com uma grande cicatriz, pronto para
ser maltratado pelos leões. Este é o nosso mundo, iluminado por crescentes e estrelas; e grandes pétalas semitransparentes que bloqueiam o caminho como se fossem
janelas avermelhadas. É tudo muito estranho. As coisas ou são enormes ou muito pequenas. Os caules das flores são tão grossos como carvalhos. As folhas são tão altas
como cúpulas de enormes catedrais. Aqui, somos como gigantes, capazes de fazer estremecer as florestas.
– Isso é aqui e agora – disse Jinny – Contudo, em breve teremos de partir. Já falta pouco para que Miss Curry faça soar o apito. Caminharemos. Ficaremos separados.
Tu irás para a escola. Terás mestres que usarão cruzes e colarinhos brancos. Eu irei para uma escola na costa oriental, e terei uma professora que se sentará por
baixo de um quadro da rainha Alexandra. É para lá que irei, junto com a Susan e a Rhoda. Isto é apenas aqui e agora. Agora, estamos deitados por baixo das groselheiras
e, sempre que a brisa sopra, as folhas cobrem-se de manchas. A minha mão lembra a pele de uma cobra. Os meus joelhos são como ilhas cor-de-rosa. A tua cara é como
uma macieira.
– É da Selva que vem todo o calor – disse Bernard. – As folhas são asas negras flutuando sobre as nossas cabeças. Lá no terraço, a Miss Curry já soprou o apito.
Somos obrigados a sair debaixo das folhas das groselheiras e a pormo-nos em sentido. Tens um raminho no cabelo, Jinny Tens uma lagarta no pescoço. Temos de nos formar
filas de dois. A Miss Curry vai levar-nos para uma marcha, ao passo que a Miss Hudson vai ficar sentada à secretária, às voltas com as contas.
– É aborrecido – disse Jinny –, andar pela estrada sem ter janelas para espreitar, sem olhos de vidro azul para olhar para o caminho.
– Temos de formar pares – disse Susan –, e caminhar de forma ordeira, sem arrastar os pés, com o Louis à frente a conduzir-nos, pois ele está sempre atento
e não se desvia para apanhar raminhos.
– Dado que é suposto eu ser demasiado delicado para os acompanhar – disse Neville –, dado cansar-me e adoecer com facilidade, servir-me-ei desta hora de solidão,
desta fuga às conversas, para vaguear pelas matas junto à casa e recuperar, se conseguir (indo para isso colocar-me no mesmo ponto), aquilo que senti ontem à noite,
quando a cozinheira andava atarefada em volta dos fogões, e, através da porta entreaberta, ouvi a história do homem morto. Encontraram-no com a garganta cortada.
As folhas da macieira colaram-se ao céu; a lua brilhou; fui incapaz de levantar os pés e subir os degraus. Encontraram-no na valeta. O sangue gorgolejou pela valeta.
O rosto era tão branco como um bacalhau morto. Chamarei para sempre a esta rigidez, a esta fixidez, a morte entre as macieiras. Viam-se nuvens de um cinzento-pálido
a flutuar; e aquela árvore inexorável; aquela árvore implacável com a sua casca prateada. O ondular da minha vida não tinha qualquer validade. Fui incapaz de passar.
Havia um obstáculo. Não sou capaz de ultrapassar este obstáculo impiedoso, disse. E os outros passaram. Porém, todos estamos condenados pelas macieiras, por aquela
árvore impiedosa que não conseguimos passar.
Agora, já não há imobilidade ou rigidez; e eu vou continuar o meu passeio pelas matas em torno da casa, ao entardecer, ao pôr do Sol, quando este faz aparecer
alguns pontos oleaginosos no linóleo, e os raios de luz se reflectem na parede, fazendo com que as pernas das cadeiras pareçam estar partidas.
– Quando chegamos do passeio – disse Susan -, vi a Florrie no jardim em frente à cozinha. Estivera a lavar, e apertava a roupa contra ela: os pijamas, as camisas
de dormir, as ceroulas. E o Ernest beijou-a. Ele tinha vestido o avental de baeta verde, estava a limpar as pratas; a boca parecia uma bolsa amachucada, e ele puxou-a,
ficando os pijamas comprimidos contra os corpos de ambos. Ele estava cego como um touro, e a angústia fê-la desfalecer. O rosto pálido cobriu-se-lhe de veias vermelhas.
Agora, e muito embora fossem pratos de pão com manteiga e copos de leite à hora do chá, vejo uma fenda na terra, e nos ares elevam-se colunas de vapor quente; a
chaleira ruge da mesma maneira que o Ernest rugiu, e, muito embora os meus dentes se enterrem no pão com manteiga e vá bebendo o leite adocicado, sinto-me tão apertada
como aqueles pijamas. Não tenho medo do calor, nem mesmo do gelo do Inverno. A Rhoda sonha, chupando uma côdea de pão embebida em leite; com um olhar vítreo, o Louis
fita a parede em frente; o Bernard esfarela o pão até o transformar em migalhas, às quais chama pessoas. O Neville, com aqueles modos arruinados e definitivos, já
acabou. Enrolou o guardanapo e enfiou-o na argola de prata. A Jinny faz girar os dedos na toalha, tal como se estivessem a dançar ao pôr do Sol, a fazer piruetas.
Mas eu não tenho medo nem do calor do Sol nem do gelo do Inverno.
– Agora – disse Louis –, todos nos levantamos; todos nos pomos de pé. A Miss Curry abre o livro negro no harmônio. É difícil não chorar quando cantamos, quando
pedimos a Deus que nos proteja durante o sono, chamando-nos criancinhas a nós mesmos. Quando estamos tristes e a tremer de apreensão, é bom cantarmos juntos e apoiarmo-nos
uns aos outros, eu contra a Susan e a Susan contra o Bernard, de mãos dadas, com medo de muitas coisas, eu, da minha pronúncia, a Rhoda, das contas; contudo, cheios
de vontade de vencer.
– Subimos as escadas como se fôssemos pôneis – disse Bernard –, a bater os pés, aos pulos, uns atrás dos outros, prontos a entrar na casa de banho. Lutamos,
brigamos, saltamos para cima e para baixo nas camas duras e brancas. Chegou a minha vez. Entro.
A Mrs. Constable, embrulhada numa toalha, pega na sua esponja cor de limão e mergulha-a na água; aquela ganha uma aparência achocolatada; pinga; e, segurando-a
bem por cima de mim, espreme-a. A água corre pelo meio das minhas costas. Sinto picadas brilhantes por toda a parte. Estou coberto por carne quente. As minhas fendas
secas estão agora molhadas; o meu corpo frio foi aquecido; está inundado e brilhante. A água desliza por mim e ensopa-me como a uma enguia. Vejo-me agora envolto
em toalhas quentes, e a sua superfície rugosa faz com que o meu sangue ronrone quando me esfrego. No topo do meu cérebro formam-se sensações ricas e pesadas; o dia
vai-se escoando – as matas; e Elvedon; a Susan e a pomba. Escorrendo pelas paredes da mente, o dia esvai-se, copioso, resplandecente. Aperto o pijama e deito-me
por baixo deste fino lençol, flutuando numa luz pálida que lembra uma película de água que me chegou aos olhos trazida por uma vaga. Ouço muito para lá dela, um
som distante e fraco, o começo de um cântico; rodas, cães; homens a gritar; sinos de igreja; o começo de um cântico.
– No momento em que dobro o vestido – disse Rhoda–, ponho de parte o desejo impossível de ser a Susan, de ser a Jinny. Contudo, sei que vou esticar os pés
para que possam tocar na barra da cama; quando a tocar, ficarei mais segura por sentir qualquer coisa de sólido. Agora, já não me posso afundar, agora, já não posso
cair através do lençol. Agora, estendo o corpo neste frágil colchão e fico suspensa. Estou por cima da terra. Já não estou de pé, já não me podem derrubar nem estragar.
E tudo é mole, maleável. As paredes e os armários tornam-se muito claros e dobram os cantos amarelados, no topo dos quais brilha um espelho pálido. Fora de mim,
a minha mente pode divagar. Penso na armada que deixei a vogar nas ondas. Estou livre de contactos e colisões. Navego sozinha por baixo dos rochedos brancos. Oh,
mas estou-me a afundar, a cair! Aquilo é o canto do armário; isto é o espelho do quarto das crianças. Porém, eles distendem-se, alongam-se. Afundo-me nas plumas
negras do sono; são asas pesadas aquilo que tenho pregado aos olhos. Viajando através da escuridão, vejo os compridos canteiros, e, de repente, Mrs. Constable aparece
por detrás da erva alta para dizer que a minha tia me veio buscar de carruagem. Monto; escapo; elevo-me nos ares, saltando com as minhas botas de saltos de mola.
Todavia, acabo por cair na carruagem que está à porta, onde ela se senta abanando as plumas amarelas, os olhos tão duros como berlindes gelados. Oh, desperto do
meu sonho! Olha, ali está a cômoda. É melhor sair destas águas. Mas elas amontoam-se à minha volta, arrastam-se por entre os seus grandes ombros; fazem-me virar;
fazem-me tombar; fazem-me estender por entre estas luzes esguias, estas ondas enormes, estes caminhos sem fim, com gente a perseguir-me, a perseguir-me.
O Sol elevou-se um pouco mais. Ondas azuis, ondas verdes, todas elas se abrem num rápido leque por sobre a praia, contornando o pontão coberto por azevinho-do-mar
e deixando pequenas poças de luz aqui e ali, espalhadas na areia. Deixam atrás de si uma tênue linha desmaiada. As rochas que antes eram tênues e de contornos mal
definidos, são agora marcadas por fendas vermelhas.
A erva tinge-se de riscas sombrias, e o orvalho, dançando na ponta das flores e das árvores, transformou o jardim num mosaico composto por brilhos isolados
que ainda não constituem um todo. As aves, com os peitos manchados de rosa e amarelo, ensaiam agora um ou outro acorde em conjunto, de forma selvagem, como grupos
de patinadores, até acabarem por se calar subitamente, afastando-se.
O Sol fez poisar lâminas ainda mais largas na casa. A luz toca em qualquer coisa verde poisada no canto da janela, transformando-a num pedaço de esmeralda,
numa gruta de um verde puro semelhante a um fruto suave. Tornou mais nítidos os contornos das mesas e das cadeiras, traçando fios dourados nas toalhas brancas. À
medida que a luz aumentava, aqui e ali, os botões iam despertando, transformando-se em flores cobertas de veios verdes, tremulas, como se o esforço que fizeram para
se abrir as obrigasse a abanar. Tudo se transformou numa massa amorfa, como se a louça dos pratos flutuasse e o aço das facas se tivesse tornado líquido. Enquanto
isso, o bater das ondas provocava um ruído abafado, semelhante ao dos toros quando caem, e que se espalhava pela praia.
– Agora – disse Bernard –, chegou a hora. Estamos no dia aprazado. O táxi está à porta. O meu enorme malão torna ainda mais arquejadas as pernas do George.
A horrível cerimônia chegou ao fim, os conselhos e as despedidas junto à porta. Agora, é a cerimônia das lágrimas, levada a cabo pela minha mãe, agora, é a cerimônia
do aperto de mão, levada a cabo pelo meu pai; agora, vou ter de continuar a acenar, pelo menos até dobrarmos a esquina. Mas até mesmo essa cerimônia chegou ao fim.
Deus seja louvado, todas as cerimônias chegaram ao fim.
Estou só. Vou à escola pela primeira vez. Toda a gente parece estar a agir de acordo com o momento presente; nunca mais. Nunca mais. A urgência de tudo isto
é assustadora. Todos sabem que vou à escola pela primeira vez. “Aquele rapaz vai à escola pela primeira vez”, diz a criada, limpando os degraus. Não devo chorar,
devo encará-los com indiferença. Agora, os horríveis portões da estação abrem-se de par em par; “o relógio com cara de lua olha-me”. Vejo-me obrigado a fazer frases
e frases, colocando assim qualquer coisa de concreto entre mim e o olhar das criadas, dos relógios, de todos aqueles rostos indiferentes. Se não o fizer, ver-me-ei
obrigado a chorar. Lá está o Louis. Lá está o Neville. Estão ambos junto às bilheteiras, envergando casacos compridos e transportando as suas malas. Têm um ar composto.
Apesar disso, estão diferentes.
– Aqui, está o Bernard – disse Louis. – Tem um ar composto; está à vontade. Abana a mala à medida que caminha. Dado que não tem medo de nada, o melhor que
tenho a fazer é segui-lo. Somos arrastados até à plataforma como se mais não fôssemos que galhos e palhinhas que a corrente faz girar em torno dos pilares de uma
ponte. Lá está aquela enorme máquina, poderosa, verde-garrafa, a soprar vapor. O guarda faz soar o apito; a bandeira é descida; sem qualquer esforço, no momento
exacto, como uma avalancha provocada por um pequeno empurrão, começamos a avançar. O Bernard estende uma manta e começa a estalar os dedos. O Neville lê. Londres
estremece. Londres eleva-se e ondula. Ali, vê-se um amontoado de torres e chaminés. Ali, uma igreja branca; ali, um mastro por entre as espirais. Ali, um canal.
Agora, surgem espaços abertos com caminhos de asfalto onde é estranho as pessoas andarem. Daquele lado, há uma colina manchada de casas vermelhas. Um homem atravessa
a ponte com um cão colado aos calcanhares. Agora, um rapaz vestido de vermelho dispara contra um faisão. Um outro, vestido de azul, dá-lhe um empurrão. O meu tio
é o melhor caçador de Inglaterra. O meu primo é o mestre da Liga dos Caçadores de Raposas. Começam as gabarolices. Só eu não me posso gabar, pois o meu pai é banqueiro
em Brisbane e falo com sotaque australiano.
– Depois de todo este reboliço – disse Neville –, depois de toda esta correria e reboliço, acabamos por chegar. Trata-se de um grande momento – de facto, trata-se
de um momento solene. Sinto-me como um Lord a entrar nos aposentos que lhe foram destinados. Aquele é o nosso fundador; o nosso ilustre fundador; e está colocado
no átrio com um dos pés levantados. Um ar austero e imperial paira por sobre estes pátios. As salas da frente têm as luzes acesas. Ali, devem ser os laboratórios;
ali a biblioteca. Será lá que explorarei as certezas do latim, que me sentirei à vontade nas frases bem construídas que lhe são características, e pronunciarei na
perfeição os hexâmetros sonoros de Virgílio e Lucrécio; e cantarei com grande paixão os amores de Catulo, tendo nas mãos um grande livro, um in-quarto com margens.
Para mais, deitar-me-ei nos campos, por entre as ervas. Deitar-me-ei com os meus amigos por baixo dos ulmeiros imponentes.
Reparem, lá está o director. Bom, o certo é que ele vem despertar o meu sentido do ridículo. É esguio em demasia. Para mais, é demasiado escuro e brilhante.
Parece as estátuas dos jardins. E, no lado esquerdo do colete, daquele colete esticado, sem uma ruga, pende um crucifixo.
– O velho Crane – diz Bernard – levanta-se para nos cumprimentar. O velho Crane, o director, tem um nariz que lembra uma montanha ao pôr do Sol, e a fenda
azul que lhe enfeita o queixo é como uma ravina coberta de árvores a quem tivessem lançado o fogo. Baloiça-se ligeiramente, pronunciando palavras imponentes e sonoras.
Adoro palavras imponentes e sonoras. Contudo, aquilo que ele diz é demasiado sincero para ser verdadeiro. Mesmo assim, está convencido de que fala verdade. E, quando
abandona a sala cambaleando pesadamente de um lado para o outro, depois do que passa por uma porta de vaivém, todos os professores lhe seguem o exemplo, cambaleando
pesadamente de um lado para o outro, passando a porta de vaivém. Trata-se da nossa primeira noite na escola, longe das nossas irmãs.
– Este é o meu primeiro dia na escola – disse Susan –, longe do meu pai, longe de casa. Tenho os olhos inchados; as lágrimas fazem-me arder os olhos. Odeio
o cheiro a pinheiro e a linóleo. Odeio os arbustos batidos pelo vento e os azulejos da casa de banho. Odeio os ditos divertidos e o olhar espantado de todos. Deixei
o meu esquilo e as minhas pombas a um rapaz, para que cuidasse dos animais. A porta da cozinha bate com força, e entre as folhas elevam-se disparos. É Percy, disparando
contra as gralhas. Tudo aqui é falso; tudo é prostituído. Vestidas de sarja castanha, Rhoda e Jinny estão sentadas do outro lado, a olhar para Miss Lambert, sentada
por baixo de um quarto onde se vê a rainha Alexandra a ler. Vê-se ainda um rolo azul. Trata-se do bordado de alguma das raparigas mais velhas. Se não aperto os dentes,
se não cravo os dedos no lenço, por certo que começo a chorar.
– A luz vermelha – disse Rhoda – , no anel de Miss Lambert move-se de um lado para o outro na mancha negra existente na página branca do livro de Orações.
É uma luz avinhada, amorosa. Agora que as nossas malas já foram desfeitas e tudo está nos dormitórios, sentamo-nos muito quietas por baixo de mapas de todo o mundo.
Há secretárias com poços cheios de tinta. Aqui, vamos ter de passar a fazer exercícios a tinta. Porém, aqui ninguém sou. Não tenho rosto. Esta gente, vestida de
sarja castanha, rouba-me a identidade. Somos todas frias, indiferentes. Terei de procurar um rosto, um rosto monumental e composto, dotá-lo com o dom da omnisciência
e usá-lo por baixo do vestido como se de um amuleto se tratasse. Só depois (prometo) encontrarei uma fresta na madeira onde esconderei a minha colecção de tesouros
curiosos. Prometo-o a mim mesma. É por isso que não vou chorar.
– Aquela mulher morena – disse Jinny – , com as maçãs do rosto bastante altas, tem um vestido brilhante como uma concha repleta de veios, próprio para usar
à noite. É bom para o Verão, mas para o Inverno gostava de ter um vestido muito fino, com laços vermelhos, destinado a brilhar à luz da lareira. Então, quando as
lâmpadas se acendessem, vestiria o meu vestido vermelho, fino como um véu, e entraria na sala, leve como uma pluma, a dançar. Quando me sentasse no meio da sala,
numa cadeira dourada, ficaria parecida com uma flor. Mas a Miss Lambert tem um vestido opaco, que lhe cai numa espécie de cascata a partir daquela gola branca. É
ela que está sentada por baixo do retrato da rainha Alexandra, pressionando o dedo com força contra a página. E nós rezamos.
– E lá vamos nós aos pares – disse Louis –, ordeiramente, marchando rumo à capela. Gosto da obscuridade que nos envolve quando chegamos ao edifício sagrado.
Gosto desta progressão ordenada. Formamos uma fila; sentamo-nos. Pomos de parte as diferenças quando aqui entramos. Gosto deste preciso momento, quando, a tropeçar,
o Dr. Crane sobe o púlpito e lê a lição a partir de uma Bíblia aberta nas costas de uma águia de bronze. Rejubilo; o meu coração aumenta ao ouvi-lo, ao escutar as
suas palavras autoritárias. Espalha nuvens de poeira na minha mente, tremula e ignominiosamente agitada, o modo como dançávamos em torno da árvore de Natal, recebendo
presentes, e de como descobri terem-se esquecido de mim. Ao se aperceber disto, uma mulher gorda disse: “Este rapazinho não recebeu presentes”, tendo-me depois entregue
um dos enfeites da árvore, e eu chorei de raiva, por terem pena de mim. Agora, o seu crucifixo, a sua autoridade, tudo põe ordem nas coisas, e eu volto a sentir
a terra que piso, e as minhas raízes descem cada vez mais até se enrolarem em torno de qualquer coisa de sólido que está lá bem no centro. À medida que ele lê, recupero
o sentido de continuidade. Transformo-me numa das figuras da procissão, um dos elementos daquela enorme roda que não pára de girar, elevando-me de vez em quando.
Tenho estado às escuras; tenho estado escondido; mas quando a roda gira (quando ele lê) elevo-me até esta luz difusa onde quase mal me apercebo de um grupo de rapazes
ajoelhados, e de uma série de pilares e placas fúnebres.
Aqui, não há qualquer espécie de crueza, de beijos rápidos.
– Aquele animal ameaça a minha liberdade sempre que reza – disse Neville. – Desprovidas de imaginação, as suas palavras atingem-me como pedras da calçada,
mais ou menos ao mesmo ritmo que a cruz doirada que traz à cintura baloiça.
As palavras de autoridade são corrompidas por aqueles que as pronunciam. Zombo e troço desta triste religião, destas figuras tristes e abatidas pela dor, cadavéricas
e feridas, que vão descendo um caminho esbranquiçado, ladeado por figueiras, e onde um bando de garotos se rebola no pó, garotos nus; e os odres de pele de cabra
onde se guarda o vinho estão pendurados à porta das tabernas. Estive em Roma com o meu pai durante a Páscoa, e vi a figura tremula da mãe de Cristo ser transportada
aos solavancos pelas ruas, o mesmo se passando com um Cristo abatido dentro de uma redoma de vidro.
Agora, vou-me inclinar para o lado como se fosse coçar a perna. E a única maneira que tenho de ver o Percival. Lá está ele, sentado no meio dos mais pequenos.
Respira com alguma dificuldade através do nariz. Os olhos azuis, estranhamente inexpressivos, fixam-se com uma indiferença pagã no pilar em frente. Dará um magnífico
funcionário da igreja. Dar-lhe-ão uma vara para que possa bater aos rapazinhos que se portem mal. É um dos aliados das frases latinas escritas no memorial de bronze.
Nada vê; nada ouve. Está longe de todos nós, num universo pagão. Mas olhem – acaba de levar a mão à nuca.
São gestos como estes que provocam paixões eternas, desesperadas. O Dalton, o Jones, o Edgar e o Bateman também levam as mãos ao pescoço. Mas não é a mesma
coisa.
– Por fim – disse Bernard – , o ruído pára. O sermão termina. Ele falou com elegância a respeito do voo das borboletas. A sua voz dura e hirsuta é como um
queixo por barbear. Volta agora aos tropeções para a cadeira. Parece um marinheiro embriagado. Trata-se de uma acção que todos os outros mestres tentarão imitar;
mas, e dado serem fracos, dado serem moles e usarem calças cinzentas, nunca conseguirão ser ridículos. Não os vou desprezar. As suas bizarrias são dignas de pena.
Trata-se de mais um entre os muitos factos que registrarei no meu livro de notas, com vista a consultas futuras. Quando for grande, andarei sempre com um bloco-notas,
um bloco bastante grande e com muitas páginas, todas metodicamente organizadas por ordem alfabética. Tomarei nota de todas as frases. Na letra B colocarei pó de
borboleta. Se, no meu livro, descrever o sol poisado no parapeito da janela, procurarei na letra B de pó de borboleta. Ser-me-á de grande utilidade. As folhas verdes
das árvores projectam os seus dedos esguios na janela. Ser-me-á útil. Mas caramba! Distraio-me com tanta facilidade, por causa de um cabelo torcido como um chupa-chupa,
pelo livro de orações da Celia, revestido a marfim. O Louis pode contemplar a natureza durante horas; sem pestanejar. Contudo, só sou capaz de o fazer se falarem
comigo. O lago da minha mente, onde não há vestígio de remos, é tão liso como um espelho, e não demora muito a se afundar numa sonolência oleosa. Ser-me-á bastante
útil.
– E lá vamos nós a sair deste templo sombrio, de volta aos pátios amarelos – disse Louis. – E, dado estarmos num feriado (é o aniversário do Duque), iremos
sentar-nos na erva alta enquanto eles jogam críquete. Se assim o quisesse, podia ser um deles; poria as caneleiras e correria pelo campo, na direcção do distribuidor.
Reparem só como todos vão atrás do Percival. É um indivíduo grande. Desce o campo de forma desajeitada, atravessa a erva alta e dirige-se para junto dos ulmeiros.
A sua magnificência assemelha-se à de um chefe medieval. Um rasto de luz parece segui-lo pela erva. Reparem no modo como o seguimos, nós, os seus fiéis seguidores,
apenas para sermos abatidos como carneiros, pois, por certo que ele nos arrastará para uma empresa arriscada, durante a qual acabaremos por perder a vida. O meu
coração endurece; transforma-se numa faca de dois gumes: de um lado, a adoração que tenho pela sua magnificência; do outro, o desprezo que nutro pela forma pouco
cuidada como fala, eu, que lhe sou superior em todos os aspectos, e invejo-o.
– E agora – disse Neville –, deixemos o Bernard começar. Ele que nos conte histórias enquanto aqui estamos deitados. Ele que descreva aquilo que todos vimos
até que os factos formem uma sequência. O Bernard diz que tudo tem uma história. Eu sou uma história. O Louis é outra história. Há ainda a história do rapaz do barco,
a do homem só com um olho, e a da mulher que vende moluscos. Ele que gagueje as suas histórias enquanto me deito de costas e, através da erva que estremece, e olho
para as pernas hirtas dos distribuidores, enfeitadas de caneleiras. É como se o mundo inteiro se curvasse e flutuasse, as árvores na terra, as nuvens no céu. Olho
através das árvores e vejo o céu. Dá a impressão de que é lá que estão a jogar. Por entre as nuvens brancas e fofas chegam-me algumas frases aos ouvidos: Corre,
e Como é que isso é possível. À medida que o vento as descompõe, as nuvens vão perdendo tufos de brancura. Se aquele azul pudesse ficar sempre assim; se aquele buraco
pudesse ficar sempre assim; se este momento pudesse ser eterno...
Mas o Bernard continua a falar. E lá vão elas a subir – as imagens. “Como um camelo”... “um abutre”. O camelo é um abutre; o abutre é um camelo; não nos devemos
esquecer que o Bernard é como um fio solto, sempre a estremecer, mas bastante sedutor. Sim, porque quando ele fala, quando faz estas comparações idiotas, uma espécie
de leveza cai sobre nós.
Sentimo-nos flutuar como se fôssemos bolas de sabão; sentimo-nos livres; “escapei-me”, sentimos. Até mesmo os rapazes mais pequenos (o Dalton, o Larpente e
o Baker) sentem o mesmo abandono. Gostam mais disto que do críquete. Apanham as frases quando estas se elevam. Deixam que as ervas lhes façam cócegas no nariz. E
é então que sentimos o Percival sentar-se pesadamente ao nosso lado. As suas gargalhadas grosseiras parecem repreender o nosso riso. No entanto, ele agora estirou-se
em cima da erva. Penso que está a morder um qualquer caule. Está aborrecido; e também me sinto aborrecido. O Bernard de pronto se apercebe do facto. Detecto um certo
esforço, uma certa extravagância nas suas palavras, como se quisesse dizer “Olhem!”, mas o Percival diz “Não”. Claro que ele é sempre o primeiro a detectar a insinceridade,
sendo terrivelmente brutal. A frase vai morrendo aos poucos. Sim, chegou o momento horrível em que os poderes do Bernard o abandonam e a sequência deixa de ter sentido.
Ele gagueja e acaba por parar, arquejando, como se estivesse prestes a irromper em pranto. Entre as torturas e devastações da vida encontra-se esta: a de os nossos
amigos não serem capazes de concluir as suas histórias.
– Antes de nos levantarmos – disse Louis –, antes de irmos lanchar, deixa-me fazer o esforço supremo e tentar fixar o momento. Isto durará para sempre. Separamo-nos;
alguns vão lanchar; outros dormir a sesta; eu vou mostrar o meu ensaio a Mr. Baker. Isto durará para sempre. A partir da discórdia, do ódio (desprezo todos os que
se ocupam de imagens só para passar o tempo, ressinto-me bastante do poder do Percival), a minha mente desunida volta a ligar-se devido a uma súbita percepção. Peço
às árvores e às nuvens que testemunhem a minha completa integração. Eu, Louis, eu, que andarei na terra durante os próximos setenta anos, renasci inteiro a partir
do ódio e da discórdia. Aqui, neste círculo de erva, sentamo-nos juntos devido ao enorme poder de uma compulsão interior. As árvores estremecem, as nuvens passam.
Aproxima-se o momento em que estes solilóquios serão partilhados. Não ficaremos para sempre a produzir sons semelhantes às batidas de um gongo, cada pancada seguindo-se
a uma nova sensação. Crianças, as nossas vidas assemelham-se a pancadas de gongos; clamores e bazófias; gritos de desespero; pancadas na nuca desferidas nos jardins.
Agora, a erva e as árvores, o ar viajante que com o seu sopro abre espaços vazios no azul apenas para os voltar a fechar, as folhas tremulas que se sobrepõem
umas às outras, e o círculo por nós formado, os braços em torno dos joelhos, tudo isto aponta para uma ordem nova e melhor, a qual torna a ser razão eterna. Percepciono
isto durante um segundo, e esta noite tentarei fixá-lo em palavras, forjar uma espécie de anel de aço, muito embora o Percival o destrua quando avança por entre
a erva, seguido pela sua corte de servidores mais pequenos. Contudo, é do Percival que preciso, pois é ele quem inspira a poesia.
– Há quantos meses – disse Susan –, há quantos anos ando a subir estas escadas, tanto nos dias escuros de Inverno como nos dias gelados de Primavera? Estamos
agora no pino do Verão. Temos de ir lá acima pôr os vestidos brancos próprios para jogar tênis, a Jinny e eu, e a Rhoda atrás de nós. Conto os degraus à medida que
os subo, e logo os considero como coisas acabadas. É por isso que todas as noites arranco o dia velho do calendário e o amachuco até ele se transformar numa bola.
Faço isto por vingança, enquanto a Betty e a Clara estão de joelhos. Eu não rezo. Vingo-me do dia. Descarrego o meu ódio na sua imagem. “Estás morto”, digo, dia
de escola, dia odiado. Fizeram com que todos os dias de Junho, este é o vigésimo quinto, fossem brilhantes e ordenados, com gongos, aulas, ordens para nos lavarmos,
para mudarmos de roupa, para comermos, para trabalharmos. Ouvimos os missionários da China. Levam-nos de automóvel a ver concertos em grandes salões. Mostram-nos
galerias e quadros.
Lá em casa, o feno ondula nos prados. O meu pai está encostado à vedação, a fumar. Dentro de casa, as portas batem uma a seguir à outra, devido às correntes
de ar que circulam pelas passagens vazias. Alguns dos quadros velhos talvez se baloicem nas paredes. Há uma pétala de rosa a cair de uma jarra. As carroças da quinta
espalham tufos de feno pela sebe. Vejo tudo isto (é aquilo que sempre vejo) quando passo pelo espelho do andar térreo, com a Jinny à frente e a Rhoda atrás. A Jinny
dança. Nunca pára de dançar, nem mesmo nas feias tijoleiras da entrada; vira os carrinhos que estão no recreio; apanha as flores às escondidas e coloca-as atrás
da orelha, o que faz com que os olhos escuros da Miss Perry se abram de admiração. Pela Jinny, claro, não por mim. A Miss Perry adora, e talvez eu mesma a pudesse
ter adorado, só que não amo mais ninguém para além do meu pai, das minhas pombas e do esquilo que deixei em casa, aos cuidados de um rapaz.
– Odeio o espelho pequenino da escada – disse Jinny. – Mostra apenas as nossas cabeças. Decapita-nos. E os meus olhos são demasiado juntos, a minha boca é
demasiado grande; mostro as gengivas quando rio. A cabeça da Susan, com o seu aspecto bravio e os seus olhos verde-musgo, que, e de acordo com o Bernard, estão destinados
a ser amados pelos poetas, porque se fixam nas coisas, põe a minha a um canto. Até mesmo o rosto da Rhoda, redondo, vazio, está completo, mais ou menos como as pétalas
que ela costumava baloiçar na taça. É por isso que lhes passo à frente e me precipito para o andar seguinte, onde está pendurado um espelho muito maior, onde me
posso ver inteira. Vejo o meu corpo e a minha cabeça; pois que mesmo com este vestido de sarja eles são unos, o corpo e a cabeça. Reparem, o simples facto de mexer
a cabeça faz com que todo o corpo ondule; até mesmo as minhas pernas magras ondulam como caules ao vento. Brilho entre o rosto bem definido da Susan e a imprecisão
da Rhoda; elevo-me como uma dessas chamas que correm por entre as fendas da terra; movo-me; danço; nunca paro de me mover nem de dançar. Movo-me como se moveu aquela
folha na vedação, quando eu era criança, assustando-me. Danço por sobre estas paredes manchadas, impessoais, que ganham uma coloração amarelada sempre que a luz
do lume paira por sobre os bules do chá. Desperto o fogo mesmo nos olhares mais finos das mulheres. Quando leio, uma orla vermelha bem delimitar os contornos negros
do livro. Contudo, não posso acompanhar todas as mudanças das palavras. Não consigo acompanhar uma linha de pensamento que se dirija do presente para o passado.
Não me posso perder, como a Susan, com as lágrimas nos olhos, lembrando-se de casa; ou deitar-me, como a Rhoda, entre os fetos, manchando de verde o meu vestido
cor-de-rosa, enquanto sonho a respeito de plantas que florescem debaixo das águas do mar, e de rochas por entre as quais os peixes nadam devagar. Para ser franca,
nem sequer sonho.
Bom, vamos lá a despachar. Deixa-me ser a primeira a tirar estas roupas ásperas. Aqui, estão as minhas meias brancas, impecavelmente limpas. Aqui, estão os
meus sapatos novos. Vou atar uma fita ao cabelo para que, quando correr pelo court, ela brilhe com a velocidade de um relâmpago, sem, no entanto, sair do seu lugar.
Nem um só cabelo ficará em desalinho.
– Esta é a minha cara – disse Rhoda –, a cara que aparece por detrás do ombro da Susan sempre que passamos frente ao espelho. Bom, não há dúvida de que se
trata da minha cara. Mas eu vou-me esconder atrás dela para a tapar, pois não estou aqui. Não tenho rosto. As outras pessoas têm-no; a Susan e a Jinny têm rostos;
estão aqui. O mundo delas é um mundo real. As coisas em que pegam são pesadas. Dizem Sim, dizem Não. Enquanto isso, eu estou sempre a mudar e desapareço num segundo.
Se se cruzam com uma das criadas, estas nunca se riem delas. Mas riem-se de mim. Elas sabem o que dizer. Elas riem de verdade, elas zangam-se de verdade.
Enquanto isso, eu tenho de ver primeiro o que as outras pessoas fazem para depois as imitar.
Reparem só na extraordinária convicção com que a Jinny puxa as meias, e isto apenas para jogar tênis. Admiro-a por isso. Mas gosto ainda mais dos modos da
Susan, já que é mais resoluta e menos ambiciosa que a Jinny. Ambas me desprezam por as imitar, mas às vezes a Susan ensina-me a fazer algumas coisas, por exemplo,
a apertar um laço, ao passo que a Jinny guarda tudo o que sabe para si mesma. Ambas têm amigas ao lado de quem se sentam. Mas eu apenas me ligo a nomes e a rostos,
usando-os como amuletos contra os desastres. Escolho uma cara desconhecida de entre todas as que se encontram do lado oposto ao que me encontro, e mal consigo beber
o chá quando aquela cujo nome desconheço se senta à minha frente. Sufoco. A emoção faz-me abanar de um lado para o outro.
Imagino toda esta gente anônima e imaculada a espreitar-me por detrás dos arbustos. Elevo-me nos ares para lhes fazer aumentar a admiração. De noite, na cama,
faço-as pasmar por completo. É com frequência que morro cravejada de setas apenas para as fazer chorar. Se elas dizem, ou se vê através de uma das etiquetas das
malas, que estiveram em Scarborough durante as últimas férias, a cidade resplandece, as ruas tornam-se douradas. É por isso que odeio os espelhos que mostram o meu
verdadeiro rosto. Quando estou só, é com frequência que me deixo cair no vazio. Tenho de ter cuidado e ver onde ponho os pés, não vá tropeçar na orla do mundo e
cair no vazio. Tenho de bater com a cabeça nas paredes para poder voltar ao meu próprio corpo.
– Estamos atrasadas – disse Susan. – Temos de esperar pela nossa vez de jogar. Enquanto isso, vamos ficar na erva a fingir que estamos a ver a Jinny e a Clara,
a Betty e a Mavis. Mas o certo é que não lhes prestamos a mais pequena atenção. Odeio ver os outros jogar. Vou construir imagens de tudo aquilo que odeio e enterrá-las
no chão. Este seixo brilhante é a Madame Carlo, e vou enterrá-la devido aos seus modos insinuantes, e também por causa dos seis dinheiros que me deu por não ter
dobrado os dedos quando praticava as escalas. Enterrei os seis dinheiros. Enterraria toda a escola: o ginásio, a sala de aulas, a sala de jantar que cheira sempre
a carne; e a capela. Enterraria as tijoleiras vermelhas e os retratos a óleo de todos aqueles velhos, benfeitores, fundadores da escola. Gosto de algumas árvores;
da cerejeira e dos montes de seiva clara que se acumulam na sua casca; e das montanhas distantes que se vêem de uma das janelas do sótão. Fora isso, enterraria tudo
o mais como enterro estas feias pedras que se encontram por toda esta costa salgada, com os seus molhes e turistas. Lá em casa, as ondas têm milhas de comprimento.
Ouvimo-las ribombar nas noites de Inverno. No Natal passado, um homem afogou-se quando estava sozinho na sua carroça.
– Quando a Miss Lambert passa – disse Rhoda –, a conversar com o vigário, todos se riem e imitam a corcunda que ela tem nas costas. Contudo, as coisas todas
mudam e ficam luminosas. Até mesmo a Jinny salta mais alto à sua passagem. Se ela olhar para aquela margarida, esta muda. Para onde quer que vá, tudo se altera debaixo
dos seus olhos; e, no entanto, depois de ela partir, será que as coisas não voltam a ser o que eram? Miss Lambert conduz o vigário através do portão e fá-lo entrar
no seu jardim particular; e, quando alcançam o lago, ela vê um sapo num nenúfar, e também isso muda. Tudo é solene, tudo é pálido no local onde ela se encontra,
semelhante a uma estátua no jardim. Acaba por deixar cair a capa de seda enfeitada com borlas, e só o seu anel cor de púrpura continua a brilhar, o seu anel cor
de vinho, cor de ametista. Quando as pessoas nos deixam, atrás delas fica sempre um rasto de mistério. Quando a Miss Lambert passa, as margaridas ficam diferentes;
e, quando trincha a carne, à sua volta elevam-se chispas de fogo. Mês após mês, as coisas começaram a perder a sua dureza; até mesmo o meu corpo começa a deixar
passar a luz; a minha espinha está macia como um pedaço de cera colocado junto à chama de uma vela. Sonho; sonho.
– Ganhei o jogo – disse Jinny – Agora, é a vossa vez. Tenho de me atirar para o chão e arfar. A corrida e o triunfo deixaram-me sem fôlego. A corrida e o triunfo
parecem ter gasto tudo o que tinha no corpo. O meu sangue deve ser agora de um vermelho muito vivo, saltando e batendo de encontro às veias. Sinto picadas na sola
dos pés, mais ou menos como se lhes estivessem a espetar fios de metal. Distingo com grande clareza os recortes de todas as ervas. Mas o sangue pulsa-me com tanta
força nas têmporas, por detrás dos olhos, que tudo parece dançar, a rede, a erva; os vossos rostos palpitam como borboletas, as árvores parecem saltar para cima
e para baixo. Neste universo não existe nada de estável, nada de imóvel. Tudo se move, tudo dança; tudo é rapidez e triunfo. Só que, depois de me ter deitado sozinha
no solo duro, a ver-vos jogar, começo a sentir vontade de ser escolhida, de ser chamada, de que uma pessoa me venha buscar de propósito, de alguém que se sinta atraído
por mim e que venha ter comigo sempre que me sento na minha cadeira dourada, com o vestido caindo à minha volta como se fosse uma flor. E, retirando-nos para longe
da multidão, sentar-nos-emos na varanda, a conversar.
Agora, a maré acaba por baixar. As árvores aproximam-se da terra; as ondas bravias que fustigam as minhas veias começam a agitar-se mais devagar, e o meu coração
prepara-se para ancorar, como um veleiro, cujas velas se recolhem e caem por sobre um convés imaculado. O jogo terminou. Está na hora de ir lanchar.
– Os gabarolas – disse Louis –, acabaram de formar uma enorme equipa para jogar críquete. Afastaram-se, cantando a plenos pulmões.Todas as cabeças se viram
ao mesmo tempo quando chegam àquela esquina, ali, onde estão os loureiros. Já se começaram a gabar. O irmão do Larpent jogou futebol pela equipa de Oxford; o pai
do Smith pertenceu à centúria dos Lordes. O Archie e o Hugh; o Parker e o Dalton; o Larpent e o Smith, os nomes vão-se repetindo; os nomes são sempre os mesmos.
Eles são os voluntários; são os jogadores de críquete; são os funcionários da Natural History Society. Andam sempre em grupos de quatro e marcham em bandos com insígnias
nos bonés; e, sempre que passam pelo chefe, saúdam-no em uníssono. Como a sua ordem é majestosa, como a sua obediência é bela! Se pudesse, sacrificaria tudo para
estar com eles. Contudo, são também eles que arrancam as asas às borboletas; são eles que atiram lenços manchados de sangue para os cantos. São eles quem fazem soluçar
os garotos pequenos nas passagens escuras. Têm orelhas grandes e vermelhas que lhes saem dos bonés. Mesmo assim, é com eles que eu e o Neville nos queremos parecer!
É com inveja que os vejo partir. A espreitar atrás da cortina, delicio-me a observar o modo como avançam em simultâneo. Se as minhas pernas pudessem ter o poder
das deles, como correriam depressa! Se tivesse estado com eles, ganho desafios e participado em corridas importantes, com que força não cantaria quando chegasse
a meia-noite! Com que rapidez as palavras não jorrariam da minha garganta!
– O Percival já foi – disse Neville. – Não pensa em mais nada a não ser no jogo. Nunca acena quando a equipa vira a esquina, junto aos loureiros. Despreza-me
por ser demasiado fraco para jogar (muito embora a minha fraqueza lhes desperte simpatia). Despreza-me por não me importar com o facto de saber se ganharam ou perderam,
mas sim de apenas querer saber daquilo que lhe interessa. Aceita a minha devoção; aceita a minha oferta tremula (sem dúvida que abjecta), muito embora nela se encontre
uma certa dose de desprezo pela sua mente. É que ele não sabe ler. Mesmo assim, quando me deito na relva a ler Catulo ou Shakespeare, ele compreende tudo melhor
que o Louis. Não me estou a referir às palavras – afinal, que são elas? Não saberei já como rimar, como imitar Pope, Dryden, até mesmo Shakespeare? Contudo, não
posso estar todo o dia ao sol a olhar para a bola; não posso sentir os movimentos da bola através do meu corpo e pensar apenas nela. Viverei sempre agarrado aos
contornos das palavras. Todavia, seria incapaz de viver com ele e suportar toda a sua estupidez. Por certo que praguejará e ressonará. Acabará por casar e fazer
cenas de ternura durante o pequeno-almoço. Mas agora ainda é novo. É como uma folha de papel, e não como uma rede, aquilo que se estende entre ele e o mundo, entre
ele e a chuva, entre ele e a lua, quando se deita na cama, o corpo nu e quente. Agora, à medida que sobem o caminho, o seu rosto está manchado de vermelho e amarelo.
Acabará por despir o casaco e firmar-se de pernas abertas, as mãos prontas, os olhos postos nos três paus horizontais que se elevam no campo. Os seus lábios murmurarão
“Meu Deus faz com que ganhemos”; não pensará em outra coisa para além da vitória.
Como é que alguma vez me poderei juntar a uma equipa de críquete? Só o Bernard o poderia fazer, mas já é tarde demais para isso. Ele chega sempre tarde demais.
É a sua incorrigível melancolia que o impede de ir com eles. Quando lava as mãos, pára para dizer: “Está uma mosca naquela teia. Deverei libertá-la? Deverei deixar
que a aranha a coma?”. Preocupa-se com um sem-número de insignificâncias. Se assim não fosse, teria ido jogar críquete com eles, e talvez agora estivesse deitado
na relva, a olhar o céu, sobressaltando-se ao ouvir o som dos tacos a bater na bola. Mas, e dado que lhes contaria uma história, os outros acabariam por lhe perdoar.
– Já se foram embora – disse Bernard –, e eu atrasei-me demais e já não posso ir com eles. Aqueles rapazinhos horríveis, que também são muito belos, e de quem
tu e o Louis, Neville, têm tanta inveja, afastaram-se com as cabeças voltadas na mesma direcção. No entanto, não me apercebo destas diferenças profundas. Os meus
dedos percorrem as teclas sem se aperceberem quais as que são brancas e as que são pretas. O Archie não tem qualquer dificuldade em chegar às cem; eu só por sorte
consigo fazer quinze. Mas qual a diferença entre nós?
Espera um pouco, Neville, deixa-me falar. As bolhas vão-se elevando como as bolas prateadas que se elevam do fundo de uma frigideira; imagem atrás de imagem.
Não me consigo agarrar aos livros com a tenacidade feroz que caracteriza o Louis. Tenho de abrir a portinhola da ratoeira e deixar escapar estas frases ligadas umas
às outras, nas quais me movimento. Assim, e em vez de um sistema incoerente, vemos antes uma teia suave, capaz de unir as coisas umas às outras. Vou-te contar a
história do professor.
Quando, depois das orações, o Dr. Crane atravessa as portas de vaivém a cambalear, ficamos com a sensação de que ele está convencido da sua superioridade.
De facto, Neville, não podemos negar que a sua partida não só nos deixa com uma enorme sensação de alívio mas também com a impressão de que nos tiraram algo, por
exemplo, um dente. Vamos então segui-lo até aos seus aposentos. Vamos imaginá-lo no quarto que lhe pertence, por cima dos estábulos, a despir-se. Desaperta os elásticos
que lhe podem prender as meias (sejamos triviais, sejamos íntimos). Depois, com um gesto que lhe é peculiar (é difícil evitar estas frases feitas, e, neste caso
concreto quando elas até se mostram apropriadas), tira as moedas dos bolsos das calças e coloca-as aos molhos em cima da cômoda. Com os braços apoiados nos braços
da cadeira, reflecte (este é o seu momento de privacidade; é aqui que o devemos tentar apanhar): deverá ele atravessar a ponte cor-de-rosa que o leva até ao quarto
contíguo, ou não? Os dois quartos estão unidos por uma ponte de luz cor-de-rosa que vem do candeeiro colocado junto a Mrs. Crane que, com a cabeça apoiada na almofada,
lê um livro de memórias em francês. Enquanto lê, passa a mão pela testa num gesto de abandono e desespero, e suspira “é tudo?”, comparando-se a uma qualquer duquesa
francesa. Só faltam dois anos para me reformar, diz o director. Irei aparar sebes num jardim da zona ocidental do país. Poderia ter sido almirante; talvez mesmo
juiz; nunca um professor. Que forças, pergunta, olhando para o fogão a gás com os ombros ainda mais curvados que o costume (não te esqueças de que está em mangas
de camisa), me terão transformado nisto? Que forças poderosas, pensa, deixando-se levar pelas frases bombásticas de que tanto gosta, ao mesmo tempo que, por cima
do ombro, espreita pela janela. A noite é de tempestade, os ramos da avelaneira não param de andar para baixo e para cima. As estrelas brilham entre eles. Que forças
poderosas do bem e do mal me terão trazido até aqui?, pergunta, e, não sem algum desgosto, repara que o pé da cadeira fez um buraco na carpete vermelha. E ali está
ele sentado, a abanar os braços. Contudo, são difíceis as histórias que seguem as pessoas até aos seus quartos. Não consigo prosseguir esta história. Estou a brincar
com um cordel; viro as quatro ou cinco moedas que tenho no bolso das calças.
– No princípio, as histórias do Bernard divertem-me sempre – disse Neville. – Mas, quando terminam de forma absurda, e ele se cala, a brincar com um qualquer
pedaço de cordel, sinto a minha própria solidão. Ele vê todas as coisas com os contornos desmaiados. É por isso que não lhe posso falar do Percival. Não posso expor
a minha paixão absurda e violenta à sua simpatia compreensiva. Também ela serviria para fazer uma história. Preciso de alguém cuja mente caia como um machado no
seu cepo; para quem o cúmulo do absurdo seja sublime, e considere um simples atacador como algo digno de admiração. A quem poderei desvendar a urgência da minha
paixão? O Louis é demasiado frio, demasiado universal. Não há ninguém aqui entre estas arcadas cinzentas, estes tolos que se lamentam, estes jogos e animadas tradições,
tudo organizado com grande mestria para que não nos sintamos sós. Porém, vejo-me obrigado a parar enquanto caminho, assaltado por súbitas premonições relacionadas
com o que há-de vir Ontem, quando ia a passar o portão do pátio interior, vi o Fenwick levantar o malho. Uma nuvem de vapor elevava-se do bule de chá. Por toda a
parte se viam canteiros de flores azuis. Então, de repente, desceu sobre mim o sentido obscuro e místico da adoração, do uno que triunfa sobre o caos. Ninguém adivinhou
a necessidade que senti de oferecer o meu ser a um deus e depois perecer, desaparecer. O malho desceu; a visão quebrou-se.
Deverei sair ao encontro das árvores? Deverei abandonar estas salas e bibliotecas? Deverei abandonar as enormes páginas amarelas onde leio Catulo, trocando-as
por bosques e campos? Deverei caminhar por entre as faias, ou vaguear ao longo da margem do rio, onde as árvores se unem como amantes? Porém, a natureza é demasiado
vegetal, demasiado insípida. Limita-se a possuir água e folhas, vastidão e espaços sublimes. Começo a desejar uma lareira, um pouco de privacidade, e também os membros
de outra pessoa.
– Começo a desejar – disse Louis –, que a noite chegue. Enquanto aqui estou, a mão apoiada no painel de carvalho que constitui a porta de Mr. Wickham, imagino
que sou um dos amigos de Richelieu, ou mesmo o duque de St. Simon, estendendo ao rei uma caixa de rapé. Trata-se de um privilégio que é só meu. A minha inteligência
espalha-se pela corte como fogo. Admiradas, as duquesas despojam-se dos anéis de esmeralda, porém, estes foguetes elevam-se melhor na escuridão da noite, quando
estou no quarto. Não passo de um rapaz com um sotaque colonial que bate à porta de Mr. Wickham com os nós dos dedos. O dia revelou-se como algo cheio de triunfos
e humilhações que tive de esconder com medo do riso dos outros. Sou o melhor aluno da escola. Mas, quando a noite cai; despojo-me deste corpo insignificante, do
meu enorme nariz, dos lábios finos, da pronúncia típica das colônias, e ocupo espaço. Sou, então, o companheiro de Virgílio e Platão. Passo a ser o último descendente
de uma das grandes casas da França. Mas sou também aquele que se obriga a abandonar estas paragens desertas e iluminadas pelo luar, estes passeios nocturnos, confrontando-se
com portas de carvalho. Acabarei por conseguir, queira Deus que não demore muito, uma qualquer mistura destas duas discrepâncias, tão terrivelmente evidentes para
mim. Consegui-lo-ei com o meu sofrimento. Vou bater à porta. Vou entrar.
– Arranquei todos os dias de Maio e Junho – disse Susan –, e ainda vinte dias de Julho. Arranquei-os e amachuquei-os até nada mais serem que um punhado de
papéis a meu lado. Foram dias difíceis de passar, como borboletas de asas queimadas pelo sol, incapazes de voar. Já só faltam oito dias. Daqui a oito dias, às seis
e vinte e cinco, descerei do comboio e poisarei os pés na plataforma. Então, a minha liberdade desfraldará as velas, afastando para bem longe estas restrições que
queimam e enchem de pregas – horas de ordem e disciplina, e o estar aqui no momento preciso. O dia desabrochará no preciso momento em que abrir a porta da carruagem
e vir o meu pai, com o seu velho chapéu e polainas. Tremerei. Debulhar-me-ei em lágrimas. Depois, na manhã seguinte, levantar-me-ei ao amanhecer. Sairei pela porta
da cozinha. Irei passear na charneca. Os enormes cavalos dos cavaleiros fantasmas correrão atrás de mim apenas para parar subitamente. Verei a andorinha vasculhar
a erva, procurando alimento. Deixar-me-ei cair na margem do rio e ficarei a ver os peixes deslizar por entre as canas. As palmas das minhas mãos ficarão cheias de
marcas provocadas pelas agulhas dos pinheiros. Lá conseguirei tirar de dentro de mim aquilo que aqui foi construído; qualquer coisa dura. Sei que, ao longo dos invernos
e verões que aqui passei, qualquer coisa se formou nas escadas e nos quartos. Ao contrário da Jinny, não quero ser admirada. Não quero que as pessoas levantem os
olhos e me fitem, admiradas, sempre que entro numa sala. Quero dar, dar-me, e preciso de solidão, da solidão que me permitirá revelar tudo o que possuo.
Depois, voltarei para casa caminhando através dos carreiros estreitos que se ocultam por baixo dos arcos formados pelas folhas das avelaneiras. Passarei por
uma velha que empurra um carrinho cheio de pauzinhos; e pelo pastor. Contudo, não trocaremos qualquer palavra. Voltarei a atravessar o jardim frente à cozinha, e
verei as folhas das couves carregadas de gotas de orvalho, e a casa no meio do jardim, cega devido às janelas cheias de cortinas. Subirei as escadas que levam ao
quarto e passarei revista a tudo aquilo que possuo e que está fechado com todo o cuidado no guarda-vestidos: as minhas conchas; os meus ovos; as minhas ervas estranhas.
Darei de comer às pombas e ao esquilo. Irei até ao canil escovar o pêlo do cão. Assim, aos poucos, acabarei por expulsar esta coisa dura que cresceu aqui comigo,
do meu lado. Contudo, as campainhas não param de tocar; os pés arrastam-se pelo chão num movimento perpétuo.
– Detesto a escuridão, o sono e a noite – disse Jinny –, e não me canso de esperar pelo dia. Gostava que a semana fosse apenas um dia, sem quaisquer divisões.
Quando acordo cedo, e são os pássaros que me acordam, fico deitada a ver os puxadores de bronze do armário tornarem-se mais claros; depois a bacia; depois o toalheiro.
À medida que as coisas no quarto se vão tornando mais claras, o coração bate-me mais depressa. Sinto o corpo enrijecer e tornar-se cor-de-rosa, amarelo, castanho.
Passo as mãos pelo corpo e pelas pernas. Sinto os seus declives, a sua espessura. Adoro ouvir o gongo ecoar pela casa, dando assim início ao ruído, aqui um baque,
ali uma rápida sucessão de passos. As portas batem; a água corre. “Começou outro dia, começou outro dia!”, exclamo, pondo os pés no chão. Pode muito bem não vir
a ser um dia bom, antes se revelando imperfeito. É com frequência que me repreendem. É com frequência que caio em desgraça por ser preguiçosa e me estar sempre a
rir; mas mesmo quando Miss Mathews resmunga qualquer coisa sobre o quanto sou cabeça-de-vento, consigo captar algo que se move – talvez uma mancha de sol poisada
num quadro, ou o burro puxando a máquina de ceifar através da encosta; ou uma vela passando por entre as folhas do loureiro. O certo é que não me deixo abater. Miss
Mathews não me pode impedir de dar graças.
Está a chegar a hora de deixar a escola e usar saias compridas. Durante a noite usarei muitos colares e um vestido branco, sem mangas. Irei a muitas festas
em salões iluminados; e um homem acabará por me escolher, dizendo-me o que nunca antes disse a mais ninguém. Gostará mais de mim que da Susan ou da Rhoda. Verá em
mim uma qualquer qualidade, uma característica particular. Todavia, não me deixarei prender por uma única pessoa. Não quero ser presa, pregada. Tremo e estremeço,
tal como uma folha abandonada ao vento, quando me sento na cama a abanar os pés, como um dia novo à frente, pronto para ser descoberto. Tenho à minha frente cinquenta,
sessenta anos para gastar. Ainda não preciso de começar a usar as reservas. Estou apenas no começo.
– Passam-se horas e horas – disse Rhoda –, antes de poder apagar a luz e deitar-me na cama, suspensa por sobre o mundo, antes de poder deixar cair o dia, antes
de poder deixar crescer a minha árvore, estremecendo por sobre mim em grandes pavilhões verdes. Aqui não a posso deixar crescer. Há sempre alguém pronto a deitá-la
abaixo. Não param de me fazer perguntas e de me interromper.
Agora vou até à casa de banho, tiro os sapatos e lavo-me; mas, enquanto me lavo, enquanto baixo a cabeça para a bacia, deixo que o véu da imperatriz russa
flutue à altura dos meus ombros. Na testa brilham-me os diamantes da coroa imperial. Ouço o rugir da tuba hostil quando me aproximo da varanda. Agora, esfrego as
mãos com tal força, que a Miss (esqueci-me do nome) não consegue suspeitar que estou a ameaçar com o punho a multidão enraivecida. “Sou a vossa imperatriz, gentalha.”
A minha atitude é de desafio. Não tenho medo, pertenço à raça dos conquistadores.
Contudo, trata-se de um sonho pouco consistente. Trata-se de uma árvore de papel. Miss Lambert fá-la desaparecer nos ares. Até mesmo a visão da sua figura
esgueirando-se pelo corredor fá-la desfazer-se em átomos. Este sonho da imperatriz não é sólido; não me satisfaz. Agora, que já foi destruído, deixa-me a tremer
de frio. Irei até à biblioteca, escolherei um livro e ali ficarei, ora a ler ora a olhar; ora a olhar ora a ler. Está aqui um poema a respeito de uma vedação. Seguirei
junto a ela e colherei flores, rosas silvestres e trepadeiras sinuosas. Apertá-las-ei com força nas mãos, e acabarei por as colocar na superfície brilhante da secretária.
Sentar-me-ei na margem trêmula do rio e ficarei a ver os lírios-de-água, largos e brilhantes, que iluminam o carvalho que se debruça por sobre a vedação com os raios
de luar reflectidos na sua própria luz líquida. Apanharei flores; unirei todas as flores numa grinalda, e, depois de esta estar pronta, irei dá-la de presente...
Oh! A quem? O fluxo do meu ser não corre como deveria; um curso de água profundo esbarra em qualquer obstáculo; sacode-se; luta; um qualquer nó existente no centro
oferece resistência. Oh, esta dor, esta angústia! Desfaleço, caio. O meu corpo perde a rigidez; é como se me tivesse tirado o lacre, estou em brasa. Agora, a corrente
transformou-se num fluxo fertilizador, forçando tudo o que encontra pela frente. A quem oferecerei tudo o que corre através de mim, pelo meu corpo quente e poroso?
Colherei um ramo de flores e vou oferecê-las... Oh! A quem?
Marinheiros e casais apaixonados percorrem a procissão; os autocarros abandonam a costa e dirigem-se para a cidade. Darei; contribuirei para enriquecer qualquer
coisa; devolverei toda esta beleza ao mundo. Recolherei as minhas flores até elas formarem um único núcleo, e, avançando de mão estendida, dá-las-ei.... Oh! A quem?
– Acabamos de receber – disse Louis –, pois trata-se do último dia do último período, o nosso último dia, para mim, para o Bernard e para o Neville, aquilo
que os mestres tinham para nos dar. Concluiu-se a introdução; o mundo está apresentado. Eles ficam; nós partimos. O Grande Professor, o homem a quem mais respeito,
balançou-se um pouco por entre as mesas e os livros, falou-nos a respeito de Horácio, Tennyson, das obras completas de Keats, e também de Mathew Arnold. Respeito
a mão que tudo isto nos deu a conhecer. Fala com a mais completa das convicções. Para si, e muito embora não se passe o mesmo connosco, as palavras que diz são verdadeiras.
Com aquela voz rouca característica dos estados emocionais profundos, disse-nos que estávamos prestes a partir. Pediu-nos para sairmos como homens. (Nos seus lábios,
tanto as citações da Bíblia como as do The Times têm a mesma magnificência.) Alguns de nós farão isto; outros aquilo. Alguns nunca mais se verão. O Neville, o Bernard
e eu nunca mais nos voltaremos a encontrar aqui. A vida far-nos-á seguir caminhos diversos. Contudo, constituímos alguns laços. Terminaram os anos infantis, irresponsáveis.
Contudo, forjamos algumas ligações. Acima de tudo, herdamos tradições.
Marcos de pedra estão aqui há seiscentos anos. Nestas paredes encontram-se inscritos nomes de militares, estadistas, até mesmo de alguns poetas infelizes (o
meu estará entre os deles). Deus abençoe as tradições, todos os limites destinados a nos salvaguardar! Estou deveras grato a todos vós, homens de capas negras, e
também a vós, já mortos, por nos terem guiado; contudo, ao fim ao cabo, o problema permanece. As diferenças ainda não foram resolvidas. As flores continuam a espreitar
pelas janelas. Vejo aves selvagens, e no meu coração agitam-se impulsos ainda mais selvagens que os pássaros. Os meus olhos têm uma expressão desvairada; aperto
os lábios com força. A ave voa; a flor dança; mas nunca deixo de escutar o bater monótono das ondas; e a fera acorrentada continua a bater as patas lá na praia.
Não pára de bater. Bate e vai batendo.
– Esta é a cerimônia final – disse Bernard. – Esta é a última de todas as nossas cerimônias. Estamos dominados por estranhos sentimentos. O guarda que segura
a bandeira está prestes a soprar o apito; o comboio não para de soltar colunas de vapor e estará pronto a partir daqui a alguns instantes. Uma pessoa sente-se tentada
a dizer qualquer coisa, a sentir qualquer coisa de absolutamente apropriado à ocasião. Sente-se a cabeça fervilhar: os lábios estão apertados. Uma abelha entra em
cena a zumbir, esvoaçando em torno do bouquet de flores de Lady Hampton, a esposa do director, que não pára de o cheirar, como que para demonstrar ter apreciado
o cumprimento. E se a abelha lhe desse uma ferroada no nariz? Estamos todos profundamente comovidos; e, no entanto, irreverentes; penitentes; desejosos de que tudo
acabe e relutantes em partir. A abelha distrai-nos; o seu voo ao acaso parece fazer diminuir a nossa concentração. Zumbindo de forma vaga, movendo-se em círculos
largos, acabou por poisar no cravo. Muitos de nós não se voltarão a ver. Não voltaremos a gozar certos prazeres quando formos livres de nos deitar e levantar quando
muito bem nos apetecer, e quando eu já não precisar de ler textos imortais às escondidas, à luz de cotos de velas. A abelha zumbe agora em torno da cabeça do Grande
Professor. Larpent, Jolin, Archie. Percival, Baker e Smith – gostei imenso de os conhecer. Apenas conheci um rapaz louco. Apenas odiei um rapaz mesquinho. Divirto-me
imenso a relembrar aqueles pequenos-almoços à mesa do director, compostos por torradas e marmelada. Ele é o único que não repara na abelha.
Se ela lhe poisasse no nariz, afastá-la-ia com um gesto magnífico. Acabou de dizer uma piada. A sua voz quase deixou de se ouvir. Estamos livres das nossas
obrigações, o Louis, o Neville e eu, para sempre. Pegamos nos livros de capas polidas, todos escritos com a caligrafia própria dos eruditos, miúda e desenhada. Levantamo-nos;
dispersamos; a pressão deixa de se fazer sentir. A abelha transformou-se num insecto insignificante e desrespeitoso, voando através da janela ao encontro da obscuridade.
Partimos amanhã.
– Estamos quase a partir – disse Neville. – As malas estão aqui; os carros estão aqui. Lá está o Percival com o seu chapéu de coco. Acabará por me esquecer.
Não responderá às minhas cartas, deixando-as esquecidas por entre armas e cães. Enviar-lhe-ei poemas, e talvez me responda com bilhetes postais. Mas é exactamente
por isso que o amo. Propor-lhe-ei um encontro, talvez por baixo de um relógio, junto a uma Cruz; ficarei à sua espera e ele não comparecerá. Sairá da minha vida
sem sequer disso se aperceber. E, por incrível que pareça, eu sairei ao encontro de outras vidas; isto é, apenas uma capa, um prelúdio. Começo a sentir, muito embora
mal consiga aguentar o discurso pomposo do director e as suas emoções fingidas, que as coisas de que nos tínhamos apercebido se estão a aproximar. Serei livre para
entrar no jardim onde Fenwick levanta o malho. Aqueles que me desprezaram reconhecerão a minha sabedoria. Contudo, e devido a qualquer lei obscura do meu ser, nem
o poder nem a sabedoria serão o suficiente para mim; andarei sempre à procura da privacidade e a murmurar palavras solitárias. E é assim que vou, na dúvida, mas
exaltado; apreensivo e com uma dor intolerável; mas pronto a descobrir o que quero depois de muito sofrimento. Ali, vejo pela última vez a estátua do nosso piedoso
fundador, as pombas poisadas na sua cabeça. Elas nunca pararão de esvoaçar em torno da sua cabeça, embranquecendo-a, enquanto na capela o órgão não pára de tocar.
Assim, ocuparei o lugar que me foi reservado no compartimento, e, quando isso acontecer, ocultarei os olhos com um livro para que não vejam que choro; ocultarei
os olhos para observar; para olhar de esguelha para o rosto. Estamos no primeiro dia das férias grandes.
– Estamos no primeiro dia das férias grandes – disse Susan. – Mas o dia ainda está enrolado. Não o examinarei até ao momento em que poisar na plataforma, ao
fim da tarde. Não me darei sequer ao trabalho de o cheirar até sentir nas narinas o vento fraco dos campos. Contudo, estes já não são os terrenos da escola; estas
já não são as vedações da escola; os homens que estão nos campos praticam acções reais; enchem carroças com feno verdadeiro; e aquelas são vacas reais, em nada semelhantes
às vacas da escola. No entanto, o cheiro a ácido carbólico dos corredores e o odor a giz característico das salas não me abandonam o nariz. Trago ainda nos olhos
o brilho uniforme da ardósia. Para enterrar profundamente a escola que tanto odeio tenho de esperar pelos campos e pelas vedações, pelos bosques e pelos pastos,
pelas vedações pontiagudas das estações ferroviárias, juncadas de giestas e carruagens descansando nas linhas secundárias, pelos túneis e pelos jardins suburbanos
onde as mulheres penduram a roupa nos estendais, e de novo pelos campos e pelos portões onde as crianças se baloiçam.
Nunca passarei uma noite que seja da minha vida em Londres, nem mandarei os meus filhos para a escola. Aqui, nesta enorme estação, todas as coisas têm um eco
vazio. A luz é amarelada, semelhante à que nos chega através de um toldo. A Jinny vive aqui. A Jinny passeia o cão nestas ruas. As pessoas daqui andam pelas ruas
em silêncio. Não olham para mais nada a não ser para as montras das lojas. As suas cabeças não param de fazer o mesmo movimento simultâneo, para cima e para baixo.
As ruas estão atadas umas às outras pelos fios do telégrafo. As casas são todas de vidro, enfeitadas com festões e toda a espécie de brilhos; agora, todas são portas
principais e cortinas de renda, pilares e degraus brancos. Mas o certo, lá vou eu, de novo para longe de Londres; estou de novo nos campos; vejo as casas, as mulheres,
que penduram a roupa às árvores, e os pastos. Londres apresenta-se agora velada, acabando por se dobrar sobre si mesma e desaparecer. O ácido carbólico e a resina
começam agora a perder o seu sabor. Cheira-me a milho e a nabos. Desfaço um embrulho de papel amarrado com um fio de algodão branco. As cascas de ovo rebolam para
a depressão que separa os meus dois joelhos. As estações vão-se seguindo umas às outras. As mulheres beijam-se e ajudam-se mutuamente a carregar os cestos. Agora,
já posso abrir a janela e deitar a cabeça de fora. O ar entra-me às golfadas pelo nariz e pela garganta – este ar fresco, este ar com sabor a sal e cheiro a nabos.
E lá está o meu pai, de costas voltadas, a falar com um agricultor. Estremeço. Choro. Lá está o meu pai com as suas palavras. Lá está o meu pai.
– Sento-me muito quietinha no meu canto e lá vou para o Norte – disse Jinny. – O comboio faz muito barulho, mas é tão suave que esbate as vedações, aumenta
o tamanho das encostas. Passamos por inúmeros sinais luminosos; fazemos a terra abanar ligeiramente de um lado para o outro. A distância concentra-se para todo o
sempre num único ponto; e estamos condenados para todo o sempre a fendê-la, a obrigá-la a se distanciar. Os postes do telégrafo não param de nos surgir pela frente;
abate-se um, eleva-se outro. Agora, rugimos e precipitamo-nos num túnel. Um cavalheiro levanta a janela. Vejo bolhas no vidro brilhante onde o túnel se reflecte.
Vejo-o baixar o jornal. Sorri para o meu reflexo no túnel. Por sua livre e espontânea vontade, o meu corpo endireita-se ao sentir o seu olhar. O meu corpo vive uma
vida que é só dele. Agora, o vidro negro da janela voltou a ser verde. Estamos fora do túnel. Ele lê o jornal. Mas já tocamos a aprovação dos nossos corpos. Lá fora
existe uma sociedade de corpos, e o meu já lhe pertence; o meu já chegou à sala onde estão as cadeiras douradas. Olha, tudo dança, as janelas das villas e as cortinas
que as enfeitam; e os homens estão sentados nas vedações dos campos de milho, com os seus lenços azuis atados ao pescoço; estão tão conscientes como eu de todo este
êxtase e calor. Um deles acena à nossa passagem. Nos jardins destas villas existem caramanchões e pavilhões, e jovens em mangas de camisa a podar as roseiras. Um
homem a cavalo vai galopando pelo prado. O animal dá um salto quando passamos. E o cavaleiro vira-se para nos olhar. Voltamos a nos encontrar no meio da escuridão.
Recosto-me; entrego-me ao êxtase; imagino que no fundo do túnel entrarei num salão repleto de cadeiras, numa das quais me sentarei, sob os olhares de admiração de
todos, com o vestido muito bem arranjado à minha volta. Mas aterro, quando levanto a cabeça encontro os olhos de uma mulher azeda, que suspeita que me deixo levar
pelo êxtase. Com alguma impertinência, fecho o corpo bem à sua frente, como se de um guarda-sol se tratasse. O meu corpo abre-se e fecha-se quando quero. A vida
está a começar. Entro agora nos segredos que esta para mim reservou.
– Estamos no primeiro dia das férias grandes – disse Rhoda. – E agora, à medida que o comboio passa por estas rochas vermelhas, por este mar azul, o trimestre,
agora que chegou ao fim, ganha uma determinada forma atrás de mim. Vejo-lhe a cor. Junho foi branco. Vejo os campos repletos de margaridas brancas, vestidos brancos,
e campos de tênis, cujos limites estão traçados a branco. Seguiu-se então uma tempestade muito forte. Certa noite, vi uma estrela cavalgar as nuvens e disse-lhe:
“Consome-me!”. Estava-se em pleno Verão, depois da festa ao ar livre e da humilhação por que tive de passar. O vento e a tempestade deram cor ao mês de Julho. É
sensivelmente a meio que, horrível, cadavérica, se deve posicionar a poça cinzenta no pátio, quando, de envelope na mão, me fizeram transportar uma mensagem. Aproximei-me
da poça. Não a consegui atravessar. A noção de identidade abandonou-me. “Nada somos”, disse, depois do que caí. Fui arrastada como uma pena, transportaram-me através
de túneis. Então, com muita cautela, dei um passo em frente. Encostei a mão a uma parede de tijolo. Foi a muito custo que voltei, recolhendo-me de novo no meu corpo,
por cima do espaço cinzento e cadavérico da poça. Esta é então a vida com a qual estou comprometida.
E é assim que deixo para trás o trimestre do Verão. Através de choques intermitentes, rápidos como os saltos de um tigre, a vida emerge do mar, tecendo a sua
crista escura. É com isto que estamos comprometidos; é a isto que estamos ligados, como corpos a cavalos selvagens. Contudo, inventamos engenhos destinados a encher
as rochas e a disfarçar as fendas. Cá está o revisor. Aqui, estão dois homens; três mulheres; um gato dentro de um cesto; eu mesma, o cotovelo apoiado à calha da
janela – isto é o aqui e agora. E lá vamos nós avançando através destas cearas douradas. As mondadeiras surpreendem-se por ficarem para trás. O comboio faz agora
muito barulho e respira penosamente, pois vamos a subir, a subir cada vez mais. Acabamos por chegar ao cimo da charneca. Aqui, só vivem umas quantas ovelhas bravas,
uns quantos pôneis felpudos; apesar disso, temos todos os confortos: mesas onde poisar os jornais; espaços destinados a segurar os copos. Levamos todas estas coisas
connosco para o cimo da charneca. Estamos agora no ponto mais alto. O silêncio fecha-se atrás de nós. Se olhar por cima daquela cabeça careca, poderei ver o silêncio
fechar-se e as sombras das nuvens perseguindo-se umas às outras ao longo da charneca vazia; o silêncio fecha-se atrás da nossa breve passagem. Chamo a isto o momento
presente; este é o primeiro dia das férias grandes. Isto é apenas uma parte do monstro a que estamos ligados.
– Já saímos – disse Louis. – Estou agora em suspensão, sem estar seguro a coisa alguma. Estamos sem estar. Estamos a atravessar a Inglaterra de comboio. A
Inglaterra vai passando através da janela, transformando-se de colina em bosque, em rios e salgueiros, e tudo apenas para voltar a ser cidade. E eu não tenho qualquer
ponto concreto para onde possa ir. O Bernard e o Neville, o Percival, o Archie, o Larpent e o Baker, todos vão para Oxford ou Cambridge, para Edimburgo, Roma, Paris,
Berlim, ou para qualquer universidade americana. Eu limito-me a avançar de forma vaga, destinado a fazer dinheiro de forma vaga. É por isso que uma sombra dolorosa,
um sotaque familiar, poisa nestas sedas douradas, nestes campos de papoulas vermelhas, nestas espigas de trigo que nunca ultrapassam o limite, mantendo-se sempre
dentro da vedação. Este é o primeiro dia de uma nova vida, mais um dos raios da roda que se eleva. Contudo, o meu corpo é tão errante como a sombra de uma ave. Deveria
ser tão efêmero como uma sombra no pasto, ora desmaiando ora escurecendo, acabando por morrer no ponto onde encontra o bosque, e assim seria se não fizesse um enorme
esforço mental para que as coisas não se passassem desta forma; obrigo-me a registrar o momento presente, quanto mais não seja no verso de uma poesia que nunca será
escrita; a anotar esta pequena marca da longa história que começou no Egipto, no tempo dos faraós, quando mulheres levavam ânforas vermelhas para o Nilo. Tenho a
sensação de que já vivi milhares de anos. Mas, se fechar os olhos, se não conseguir descobrir o ponto de encontro entre o passado e o presente, que estou sentado
numa carruagem de terceira classe repleta de rapazes que vão passar férias a casa, a história da humanidade ficará despojada da imagem de um determinado momento.
O seu olho, que deveria ver através de mim, fecha-se (isto se a cobardia ou o descuido me fizerem adormecer, enterrando-me no passado, na escuridão; ou o condescender,
tal como o Bernard faz, contando histórias; ou gabando-me, tal como se gabam o Percival, o Archie, o John, o Walter, o Lathom, o Roper e o Smith), os nomes são sempre
os mesmos, são os nomes dos fanfarrões. Estão-se todos a gabar, estão todos a falar, todos menos o Neville, que de vez em quando deixa o olhar escorregar por um
dos cantos do livro francês que está a ler. E assim continuará a se esgueirar, penetrando em aposentos iluminados pela luz da lareira e onde se vêem muitas poltronas,
tendo como companhia um amigo e muitos livros. Enquanto isso, estarei sentado num escritório, por detrás de um balcão. Acabarei por me tornar amargo e troçar deles.
Invejarei o modo como seguir as suas tradições, escudando-se na sombra dos velhos teixos, enquanto eu terei de me misturar com funcionários públicos e gente de baixa
condição, palmilhando as pedras da calçada.
No entanto, desmembrado e sem nada onde me possa segurar (está ali um rio; um homem pesca; vê-se ali um pináculo, ali a rua principal da aldeia com as suas
janelas em arco) tudo me parece um sonho, sem contornos definidos. Estes pensamentos duros, esta inveja, esta amargura, nada disto me atinge. Sou o fantasma do Louis,
um viandante efêmero, em cuja mente os sonhos são poderosos, e os jardins ecoam quando, de manhã bem cedo, as pétalas flutuam em profundezas insondáveis e as aves
cantam. Mergulho nas águas límpidas da infância. O véu fino que a cobre estremece. Mas, lá na praia, o animal acorrentado não cessa de bater as patas.
– O Louis e o Neville – disse Bernard – estão ambos em silêncio. Estão ambos absortos. Ambos sentem a presença dos outros como se de um muro se tratasse, um
muro que os isola. Todavia, se me retiro em companhia dos outros, as palavras de imediato se elevam dos meus lábios como se fossem anéis de fumo. É como se chegassem
um fósforo a um monte de lenha; algo se incendeia. Entra agora um viajante, um homem idoso, de aparência próspera. De imediato sinto desejo dele me aproximar; há
qualquer coisa na sua presença fria, não assimilada, que me desgosta profundamente. Não acredito em separações. Não somos seres individuais. Para mais, tenho vontade
de alargar a minha colecção de observações valiosas a respeito da verdadeira natureza humana. Por certo que a minha obra constará de muitos volumes e abrangerá todos
os tipos conhecidos de homens e mulheres. Encho a mente com todos os elementos de uma sala ou de uma carruagem, do mesmo modo que os outros enchem uma caneta de
tinta-permanente. Tenho uma sede impossível de mitigar. Através de sinais imperceptíveis, os quais só mais tarde poderei interpretar, sinto que a sua atitude provocatória
está prestes a esmorecer. A solidão que demonstra parece estar prestes a estalar. Acabou de dizer qualquer coisa a respeito de uma casa de campo. Um círculo de fumo
eleva-se dos meus lábios (a respeito de colheitas) e gira em volta dele, obrigando-o a estabelecer contacto. A voz humana tem uma qualidade desarmante (não somos
seres individuais, somos um todo). À medida que trocamos algumas frases a respeito de casas de campo é como se o polisse e tornasse real. Como marido é tolerante,
se bem que infiel; trata-se de um pequeno mestre-de-obra com alguns homens a trabalhar para si. É importante na sociedade a que pertence; já atingiu a posição de
conselheiro, e, com o tempo, talvez venha a ser presidente de câmara. Pendurado na corrente do relógio, está um qualquer enfeite de coral, uma espécie de dente arrancado
pela raiz. Walter J. Trumble é o tipo de nome que lhe ficaria bem. Esteve na América com a mulher, a tratar de negócios, e um quarto de casal numa pensão importante
custou-lhe o equivalente a um mês de salário. Um dos dentes da frente é de ouro.
Bom, o certo é que não tenho jeito para grandes reflexões. Preciso de sentir o concreto em tudo. Só assim me consigo apropriar do mundo. Contudo, dá-me a sensação
de que uma frase tem existência própria. Mesmo assim, penso que é na completa solidão que se produz o melhor. As minhas palavras são cálidas e solúveis, carecem
de um certo arejamento que não lhes posso dar. Mesmo assim, o meu método tem vantagens. Por exemplo, a vulgaridade de um indivíduo como Trumble faz com que o Neville
se afaste. O Louis, caminhando com o passo alto das garças desdenhosas, vai apanhando palavras como se para isso se servisse de pinças. É certo que os seus olhos
– ariscos, sorridentes, mas também desesperados – expressam algo que não conseguimos alcançar. Há qualquer coisa de exacto e preciso em relação ao Neville e ao Louis,
algo que tanto admiro e que nunca possuirei. Começo agora a aperceber-me da necessidade de agir. Aproximamo-nos de um entroncamento; é aqui que devo mudar. Tenho
de apanhar um comboio para Edimburgo. Sinto que não consigo encarar este facto – escapa-se-me por entre os dedos como um botão, como uma moedinha. Aqui vem o revisor
pedir os bilhetes. Eu tinha um – claro que tinha um. Mas isso não interessa. Ou o encontro ou não o encontro. Procuro na carteira. Vasculho os bolsos. São coisas
deste tipo que estão constantemente a interromper o processo no qual me vejo sempre envolvido, e que se prende com a procura da frase perfeita que se adeque a este
momento.
– O Bernard foi-se embora sem bilhete – disse Neville. – Escapou-se como uma frase, um aceno. Falava com a mesma facilidade com que nos falava tanto a um canalizador
como a um criador de cavalos. O canalizador aceitava-o com devoção. Se tivesse um filho como ele, pensava, arranjava maneira de o mandar para Oxford. Mas que sentiria
o Bernard pelo canalizador? Será que não desejaria apenas continuar a sequência da história que nunca pára de contar a si mesmo? Começou-a em criança quando desfazia
o pão em migalhas. Esta migalha era um homem, aquela uma mulher.
Somos todos migalhas. Somos todos frases na sua história, factos que anota na letra A ou B. Revela uma incrível compreensão quando conta a nossa história,
excepto no que se refere ao que sentimos. O certo é que não precisa de nós. Tudo está à nossa mercê. Ali está ele, na plataforma, a acenar. O comboio partiu sem
ele. Perdeu a ligação. Perdeu o bilhete.
Mas isso não importa. Acabará por falar com o empregado do bar a respeito do destino humano. Estamos de fora; ele já nos esqueceu; saímos do seu ângulo de
visão; continuamos repletos de sensações, meio-doces, meio-amargas, pois, e, de certa forma, ele é digno de piedade, enfrentando o mundo com as suas frases incompletas
e sem o bilhete. Mesmo assim, também merece ser amado.
Volto a fingir que estou a ler. Levanto o livro até este quase me tapar os olhos. Todavia, sou incapaz de ler frente a canalizadores e criadores de cavalos.
Não tenho o poder de inspirar simpatia. Não admiro aquele homem; ele não me admira. Deixem-me ao menos ser honesto. Deixem-me denunciar este mundo fútil, oco, em
paz consigo mesmo; estes assentos de pele de cavalo; estas fotografias a cores de molhes e paredões. É claro que poderia denunciar em voz alta a mediocridade deste
mundo, que produz negociantes de cavalos que usam berloques de coral nas correntes dos relógios. Há em mim a capacidade de os consumir por completo. As minhas gargalhadas
fá-los-ão revolver-se nos assentos; fá-los-ão uivar à minha frente. Não; eles são imortais. São eles quem triunfam. Farão com que nunca me seja possível ler Catulo
numa carruagem de terceira classe. Farão com que em Outubro me refugie numa universidade, onde acabarei por me tornar professor; e ir até à Grécia dar palestras
no Parténon. Seria melhor criar cavalos e viver numa daquelas casas vermelhas do que passar a vida a revolver-me nas caveiras de Sófocles e Eurípides, semelhante
a uma larva, tendo por companheira uma esposa de vasta erudição, uma dessas mulheres das universidades. Apesar de tudo, será esse o meu destino. Sofrerei. Aos dezoito
anos, sou capaz de mostrar uma tão grande dose de desprezo, que os criadores de cavalos me odeiam. É esse o meu triunfo; sou incapaz de compromissos. Não sou tímido;
não tenho qualquer sotaque estranho. Ao contrário do Louis, não preciso de me preocupar com o que irão as pessoas pensar por o meu pai ser banqueiro em Brisbane”.
Aproximamo-nos do mundo civilizado. Já vejo os gasômetros. Lá estão os jardins municipais por onde passam linhas asfaltadas. Lá estão os amantes, deitados
na relva sem qualquer pudor, as bocas apertadas umas contra as outras. O Percival deve estar quase na Escócia; por certo que o comboio onde viajava atravessa charnecas
avermelhadas; por certo que deve estar a ver a linha composta pelas montanhas que marcam o início do país, bem assim como o muro romano. Deve estar a ler um livro
policial e a entender tudo o que lá está.
O comboio abranda e alonga-se à medida que nos aproximamos de Londres, do centro, e o meu coração quase que salta, de medo, de satisfação. Estou prestes a
encontrar... o quê? Que aventuras extraordinárias me esperarão por entre estas carrinhas dos correios, estes bagageiros, estes enxames de gente à espera de táxi?
Sinto-me insignificante, perdido, mas também satisfeito. Paramos com um ligeiro solavanco. Vou deixar que os outros saiam antes de mim. Deixar-me-ei ficar sentado
durante mais um instante antes de sair ao encontro daquele caos, daquele tumulto. Tentarei não antecipar o que está para vir. Sinto um enorme rugido nos ouvidos,
qualquer coisa que, por baixo deste telhado de vidro, lembra o barulho do mar. Despejam-nos na plataforma com as malas na mão. O turbilhão faz com que nos separemos.
O meu sentido de unidade, o desprezo que me caracteriza, quase desaparece. Sou arrastado pela multidão. Afasto-me da plataforma agarrado a tudo o que possuo – uma
mala.
O Sol já nasceu. Barras de amarelo e verde incidem na praia, dourando as traves do barco carcomido e fazendo com que as algas emitam reflexos azul metalizado.
A luz quase que atravessa as finas ondas que se estendem pela praia. A rapariga que abanou a cabeça, fazendo dançar todas as jóias, os topázios, as águas-marinhas,
as contas cor de água com lampejos de fogo, desnudou agora a testa e, de olhos bem abertos, traça um caminho em linha recta por sobre as ondas. Os seus brilhos tremeluzentes
escurecem; os seus abismos verdes aprofundam-se e escurecem, podendo ser atravessados por cardumes errantes de peixes. À medida que se quebram e recolhem, deixam
atrás de si, na praia, uma orla composta por raminhos e cascas de árvore, palhas e pedaços de madeira, tal como se uma chalupa se tivesse quebrado contra as rochas,
os marinheiros tivessem nadado para a terra, e, do alto do penhasco, vissem a frágil embarcação em que seguiam ser arrastada para a praia.
No jardim, as aves que até então haviam cantado de forma esporádica, anunciando a alvorada, ora nesta árvore ora naquele arbusto, cantavam agora em coro, alto
e bom som; ora juntas (como se estivessem conscientes da companhia) ora a sós (como se para homenagear o pálido céu azul). Como se tivessem combinado, levantavam
voo em conjunto quando viam um gato preto avançar por entre os arbustos; quando viam a cozinheira atirar mais uma pá de cinza para o monte já grande do dia anterior.
O seu canto revelava medo, dor e apreensão, e também a alegria de terem conseguido escapar no instante preciso. Para mais, cantavam também de felicidade no ar fresco
da manhã, voando alto por cima do ulmeiro, cantando em conjunto ao se perseguirem mutuamente, escapando-se, tentando agarrar-se enquanto voltejavam nos ares. E então,
cansadas de voar e da perseguição, desceram devagar, com suavidade, acabando por poisar e se sentar em silêncio na árvore, no muro, com os olhos brilhantes sempre
alerta, e as cabeças ora viradas nesta ou naquela direcção; vivos, despertos; profundamente conscientes de uma casa, de um determinado objecto.
Sem parar de olhar de um lado para o outro, começaram a examinar mais em profundidade, virando as cabeças para o nível inferior ao das flores, para as avenidas
escuras que compõem o mundo obscuro onde as folhas apodrecem e as flores acabam por cair. Então, um dos pássaros, fazendo um voo rasante, ataca o corpo mole e indefeso
de um verme monstruoso, bicando-o repetidas vezes até acabar por decidir deixá-lo apodrecer. Lá em baixo, entre as raízes, onde as flores apodreciam, e elevava-se
nos ares toda a espécie de cheiros indicadores de morte; formavam-se gotas nos flancos inchados e entumecidos das coisas. A pele da fruta podre rebentava, e a matéria
tornava-se demasiado espessa para correr. As lesmas deixavam atrás de si uma série de excreções amarelas, e, de vez em quando, um corpo amorfo com uma cabeça em
ambas as extremidades abanava-se devagar de um lado para o outro. As aves de olhos dourados, poisadas entre as folhas, observavam de forma zombeteira toda aquela
purulência, aquela viscosidade. De vez em quando, espetavam as pontas dos bicos na mistura pegajosa.
Também agora o sol atingiu a janela, tocando a cortina orlada a vermelho, começando a criar círculos e linhas. Agora, à luz da claridade que não parava de
aumentar, a sua brancura poisava na bandeja; a lâmina condensava o seu brilho. As cadeiras e os armários apareciam de forma indistinta mais atrás, o que fazia com
que, muito embora fossem objectos diferentes, parecessem ser incapazes de se separar. O espelho cobria a parede de branco. A flor que repousava no parapeito da janela
tinha por companhia uma flor fantasma. Todavia, aquela espécie de espectro fazia parte da flor, pois que quando se soltava um botão, um outro abria na forma mais
pálida, reflectida no espelho.
O vento começou a soprar. As ondas batiam com força na praia, como se fossem guerreiros de turbante, como se fossem homens de turbante com azagaias envenenadas
que, erguendo os braços, avançassem contra rebanhos compostos por ovelhas brancas.
– Aqui, na faculdade, onde a agitação da vida e o modo como esta nos pressiona são tremendos, onde a excitação de viver se torna cada dia mais urgente, aqui
a complexidade das coisas torna-se óbvia – disse Bernard. – A toda a hora descubro coisas novas. “Que sou eu?”, pergunto. Isto? Não, sou aquilo. Principalmente agora,
que abandonei uma sala cheia de gente a conversar, e os meus passos solitários ressoam nas lajes, e vejo a lua elevar-se, sublime, indiferente, por sobre a antiga
capela, é então que se torna claro que não sou um ser uno e simples, mas antes complexo e múltiplo. Em público, o Bernard não se cala; em privado, é misterioso.
É por isso que eles não compreendem, pois por certo que estão a falar a meu respeito, dizendo que lhes escapo, que sou evasivo. Não compreendem que tenho de passar
por muitas transformações; que tenho de comandar as entradas e as saídas dos diferentes homens que desempenham o papel de Bernard. Tenho uma capacidade anormal para
me aperceber das circunstâncias. Sou incapaz de ler um livro no comboio sem perguntar: “Será ele um construtor? Será ela infeliz?”. Por exemplo, hoje apercebi-me
claramente da amargura com que o pobre Simes (ele e a sua borbulha) sentia serem diminutas as hipóteses que tinha de impressionar o Billy Jackson. O facto doeu-me,
e foi com ardor que o convidei para jantar. Ele talvez vá atribuir o que se passou a uma admiração que não é minha. Claro que estou a dizer a verdade. Mas, para
além da sensibilidade própria das mulheres (e aqui estou a citar o meu biógrafo) Bernard possuía a sobriedade lógica de um homem. As pessoas que apenas retêm uma
impressão das coisas, a qual costuma ser quase sempre boa (pois parece existir uma qualquer virtude na simplicidade), são as que mantêm o equilíbrio no meio da corrente.
(De imediato vejo um cardume de peixes com os narizes apontados na mesma direcção.) Canon, Lycett, Peters, Hawkins, Larpent, Neville, todos são peixes a nadar no
meio da corrente. Mas tu compreendes, tu, o meu eu, que respondes sempre que te chamo (seria terrível esperar e não obter resposta; só isso explicaria a expressão
dos homens idosos que frequentam os clubes, há muito que deixaram de chamar por um eu que não responde), tu compreendes que aquilo que disse esta noite apenas representa
uma parte superficial do meu ser. No fundo, é quando estou mais distante que me sinto mais integrado. Sou efusivamente simpático; também me sento, tal como um sapo
num charco, recebendo com toda a calma seja o que for que o destino me reserva. Poucos de vós, que agora discutem a meu respeito, têm a dupla capacidade de sentir,
de raciocinar. Repare, o Lycett continua a correr atrás das lebres; o Hawkins passou uma tarde atarefadissima na biblioteca. O Peters tem uma namoradinha na biblioteca
móvel. Vocês estão todos comprometidos, envolvidos, absorvidos, e completamente activados dos pés à cabeça, todos menos o Neville, cuja mente é demasiado complexa
para se interessar por uma única actividade. Eu também sou demasiado complexo. No meu caso, há algo que permanece a flutuar, sem se prender a nada.
Agora, como que para provar que sou susceptível à atmosfera que me rodeia, aqui, no meu quarto, quando acendo a luz e vejo as folhas de papel, a mesa, o roupão
negligentemente poisado nas costas da cadeira, sinto que sou aquele homem simultaneamente ousado e prudente, aquela figura intrépida e perniciosa que, despindo o
casaco com elegância, agarra na caneta e de imediato se põe a escrever à rapariga por quem está profundamente apaixonado.
Sim, tudo é propício. Estou no estado de espírito adequado. Posso escrever de um só fôlego a carta que tantas vezes comecei. Acabei de entrar; deixei cair
o chapéu e a bengala; estou a escrever a primeira coisa que me veio à cabeça sem sequer me ter dado ao trabalho de endireitar o papel. Irá transformar-se num esboço
brilhante, a respeito do qual ela deverá pensar ter sido escrito sem uma pausa, sem uma emenda. Reparem como as letras estão desordenadas – ali há mesmo um borrão.
Tudo deverá ser sacrificado em nome da velocidade e do descuido. Utilizarei uma caligrafia pequena, apressada, exagerando a curva inferior do “y” e atravessando
os “t” assim – com um traço. A data será apenas terça-feira, dezessete, ao que se seguirá um ponto de interrogação. Todavia, devo dar-lhe a impressão de que muito
embora ele – pois este não sou eu – esteja a escrever de forma tão pouco cuidada, tão impetuosa, existe aqui uma subtil sugestão de intimidade e respeito. Terei
de aludir a conversas travadas por ambos – trazer à baila uma qualquer cena conhecida. Contudo, tenho de lhe dar a impressão (e isto é muito importante) de que salto
de uma coisa para outra com o maior à-vontade do mundo. Saltarei do trabalho para o homem que se afogou (tenho uma frase para isso), depois para Mrs. Moffat e os
seus ditos (tenho algumas notas a esse respeito), e só então farei algumas reflexões aparentemente casuais, mas repletas de profundidade (é com frequência as críticas
mais profundas serem feitas por acaso) sobre um qualquer livro que tenha andado a ler, um livro pouco conhecido.
Quero que ela diga quando escova o cabelo ou apaga a vela: “Onde é que li isto? Oh, na carta do Bernard!”. É na velocidade que reside o efeito quente, úmido,
o fluxo continuo de frases de que tanto preciso. Em quem estarei a pensar? Em Byron, claro. Sou como ele em alguns aspectos. Talvez que um pouco de Byron me ajude.
Talvez seja melhor ler uma ou duas páginas. Não; isto é maçador; fragmentado. Isto é demasiado formal. Comecei agora a sentir-lhe o ritmo (o ritmo é a característica
mais importante da escrita). Agora, e sem proceder a qualquer paragem, inspirado por esta cadência melodiosa, vou escrever tudo de um só fôlego.
Porém, não o consigo. Sou incapaz de reunir a energia suficiente para proceder à transição. O meu verdadeiro eu sobrepõe-se à máscara. Se recomeçar a escrever,
ela pensará: “O Bernard está a armar-se em intelectual; está a pensar no biógrafo” (o que até é verdade). Não, talvez seja melhor deixar a carta para amanhã, logo
a seguir ao pequeno-almoço.
Deixa-me antes de encher o espírito com cenas imaginárias. Vamos partir do princípio que me pedem para ficar em Restover, Kings Laughton, a três milhas de
Station Langley. No pátio desta casa em mau estado encontram-se dois ou três cães, esquivos, de pernas compridas. A entrada está coberta por tapetes desbotados;
um cavalheiro de porte marcial fuma o seu cachimbo enquanto percorre o terraço, de cá para lá e de lá para cá. O tom reinante é o de um misto de pobreza aristocrática
e de ligações com o exército. Em cima da escrivaninha vê-se o casco de um cavalo – o animal preferido. “Gosta de montar?” “Sim, adoro.” “A minha filha está à nossa
espera na sala.”
O coração quase me salta do peito. Ela está sentada junto a uma mesa baixa; esteve a caçar; há qualquer coisa de maria-rapaz na forma como mastiga o pão. O
coronel ficou com uma excelente impressão a meu respeito. Acha que não sou nem demasiado esperto nem demasiado rude. Também sei jogar bilhar. É então que entra na
sala a simpática criada que trabalha para a família há mais de trinta anos. Os pratos estão enfeitados com aves de longas caudas, bem ao estilo oriental. Por cima
da lareira pode ver-se o retrato da mãe, envergando um vestido de musselina. É com facilidade que descrevo aqui o que me rodeia. Mas será que consigo fazer com que
as coisas resultem? Serei capaz de ouvir a sua voz – o tom exacto com que pronunciará a palavra “Bernard” assim que nos encontremos a sós? E depois, o que virá a
seguir?
O certo é que preciso do estímulo alheio. A sós, junto à lareira apagada, consigo ver os pontos pouco consistentes da minha história. O verdadeiro romancista,
o ser humano verdadeiramente simples, seria capaz de continuar a dar largas à imaginação até quase ao infinito. Ao contrário do que se passa comigo, nunca se integraria.
Nunca se aperceberia do terrível facto de existirem inúmeras partículas de cinza repousando na grelha. É como se um estore se corresse por sobre o meu olhar. Tudo
adquire características impenetráveis. Sou obrigado a parar de inventar.
Deixa-me fazer um balanço do que se passou hoje. Em termos gerais, até foi um bom dia. A gota que se forma logo pela manhã no telhado da alma é redonda e tem
muitas cores. A manhã foi boa; passei a tarde a andar. Gosto de ver espirais elevando-se por entre os campos cinzentos. Gosto de olhar por entre os ombros das pessoas.
Estavam-me sempre a vir imagens à mente. Fui imaginativo, subtil. Depois do jantar, mostrei-me dramático. Transformei em factos concretos muitas coisas a respeito
dos nossos amigos comuns de que apenas me tinha apercebido vagamente. Foi com facilidade que fiz as minhas passagens. Agora, sentado de frente a este lume cinzento,
com os seus promontórios de carvão escuro, talvez não seja má ideia interrogar-me a respeito de qual destas pessoas sou. Depende tanto da sala. Quando digo para
mim mesmo a palavra “Bernard”, quem é que aparece? Um homem fiel, sardônico, desiludido, se bem que não amargurado. Um homem sem qualquer idade ou ocupação específicas.
Ou seja, apenas eu. É ele quem agora pega no atiçador e sacode as cinzas, fazendo-as escoar-se através da grelha. “Meu Deus”, diz ele ao vê-las cair, “que fumarada!”,
ao que a seguir acrescenta de forma lúgubre, mas que à laia de consolo: “A Mrs. Moffat virá varrer tudo isto”– acho que irei repetir muitas vezes esta frase ao longo
da vida. “Oh, sim, a Mrs. Moffat virá varrer tudo isto.” “E o melhor será mesmo ir para a cama.”
– Num mundo que contém o momento presente – disse Neville –, para quê discriminar? Não deveríamos dar nomes a coisa alguma, já que, ao fazê-lo, estamos a alterá-la.
Deixemo-las existir, esta margem, esta beleza, para que eu, por um só instante que seja, possa sentir prazer. O sol está quente. Contemplo o rio. Vejo as árvores
manchadas e como que incendiadas pelo sol avermelhado do Outono. Os barcos vão passando a flutuar, ora através do vermelho ora através do verde. Lá longe, os sinos
dobram, se bem que não pelos mortos. Estas campainhas são antes um louvor à vida. A felicidade faz com que uma folha caia. Oh, estou apaixonado pela vida! Reparem
só como o salgueiro estende os ramos pelo ar! Reparem só como um barco recheado de jovens indolentes, fortes e inconscientes, passa através deles. Os rapazes têm
um gramofone ligado e estão a comer fruta que tiram de dentro de sacos de papel. Atiram as cascas das bananas para o rio, e aquelas acabam por se afundar com um
movimento semelhante ao das enguias. Tudo o que fazem é belo. Atrás deles estão galheteiros e ornamentos; os seus quartos estão cheios de remos e oleografias, mas
acabaram por transformar tudo em beleza. O barco em que seguem passa por baixo da ponte. Há outro que se aproxima, de pronto seguido por mais outro. Lá está o Percival
reclinado nas almofadas, monolítico, num repouso de gigantes. Não, é apenas um dos que em torno dele giram, imitando a sua postura monolítica. O próprio Percival
não tem consciência dos seus truques, e, quando por acaso deles se apercebe, afasta-os com um gesto bem-humorado. Também eles passaram por baixo da ponte, pela fonte
das árvores pendentes, através das suas delicadas tonalidades de amarelo e cor de ameixa. Sopra uma ligeira brisa; a cortina agita-se; por detrás dela surge uma
série de edifícios graves, se bem que eternamente felizes, os quais parecem porosos, e não compactos; leves, apesar de construídos na turfa eterna. Começa agora
a soar em mim um ritmo familiar; as palavras que até agora haviam estado adormecidas vão aos poucos elevando-se, sobem e descem, e voltam a subir e a descer. Sim,
sou poeta. Só posso ser um grande poeta. Barcos cheios de jovens e árvores distantes, a fonte das árvores pendentes. Tudo isto vejo. Tudo isto sinto. Sinto-me inspirado.
Os olhos enchem-se-me de lágrimas. Todavia, e apesar de me sentir assim, tento refrear o mais possível o frenesi que sinto. Este espuma. Torna-se artificial, pouco
sincero. Palavras, palavras e palavras, observem o modo como galopam, como abanam as longas caudas e crinas, mas, e por qualquer falha minha, não me posso dar ao
luxo de as montar; não posso voar junto com elas. Existe em mim um qualquer defeito, uma qualquer hesitação fatal, que, se não lhe prestar atenção, se transforma
em espuma e falsidade. Contudo, mal consigo acreditar que não possa vir a ser um grande poeta. Se o que escrevi ontem à noite não é poesia, então o que é? Serei
demasiado rápido, demasiado fácil? Não sei. Às vezes não me conheço, chegando mesmo a não saber como medir, contar e classificar os grãos que compõem aquilo que
sou.
Há algo que me abandona; algo que se afasta de mim e vai ao encontro da figura que se aproxima, o que me faz ter a certeza de a conhecer, mesmo antes de ver
quem é. Como é curioso o modo como nos transformamos na presença de um amigo – mesmo que este esteja longe. Como é útil o serviço que os amigos nos prestam quando
nos procuram. No entanto, como é doloroso vermos o nosso eu adulterado, misturado, como que fazendo parte de outra criatura. À medida que ele se aproxima, transforma-se
numa mistura do Neville com mais alguém – quem? – com o Bernard? Sim, é mesmo o Bernard, e é a ele que deverei colocar a questão: “Quem sou eu?”.
– Que estranho parecem os salgueiros quando vistos em conjunto – disse Bernard. – Eu era Byron, e as árvores eram as árvores de Byron, lacrimosas, de ramos
pendentes, como que a lamentarem-se. Quando olhamos atentamente apenas para uma árvore, vemos que tudo combina, até mesmo os ramos mais diferentes, e, forçado pela
tua claridade, vejo-me obrigado a dizer o que sinto.
Sinto a tua desaprovação, a tua força. Junto contigo, transformo-me num ser humano desordenado e impulsivo, cujo lenço está para sempre manchado com a gordura
dos bolos. Sim, seguro um livro de Gray numa das mãos (trata-se do Elegy), enquanto com a outra agarro o último bolo, aquele que absorveu toda a manteiga e ficou
agarrado ao fundo do prato. O facto ofende-te; sinto o teu descontentamento. Inspirado por ele e ansioso por voltar a cair nas tuas boas graças, começo a contar-te
a forma como consegui arrancar o Percival da cama; descrevo os seus chinelos; a mesa e a vela gotejante que se encontram no quarto; os seus protestos e amuos quando
o destapo; o modo como ele acaba por se enroscar como se fosse um casulo gigante. Descrevo tudo isto de tal forma, que, muito embora estejas embrenhado numa qualquer
mágoa particular (pois há uma figura embuçada a presidir ao nosso encontro), acabas por ceder, soltas uma gargalhada e delicias-me. O meu encanto e o modo como me
exprimo, inesperado e espontâneo, também me deliciam. Sempre que desnudo as coisas através das palavras, fico espantado com o quanto o meu poder de observação é
bem mais desenvolvido que a linguagem que utilizo. À medida que falo, são cada vez mais as imagens que me vêm à cabeça. É isto mesmo que preciso, digo eu para comigo;
sendo assim, por que razão não consigo acabar a carta que estou a escrever? O certo é que o meu quarto está sempre cheio de cartas por acabar. Começo a suspeitar
de que quando estou contigo me encontro entre o mais dotado dos homens. Sinto-me invadido pelas delícias da juventude, da força, do sentido do que está para vir.
Aos tropeções, mas cheio de fervor, vejo-me a zumbir em torno das mais variadas flores, descendo ao longo de corolas escarlates, fazendo com que os funis azuis ecoem
os sons prodigiosos que provoco. Com que riqueza gozarei a juventude (pelo menos é assim que me fazes sentir!). E Londres. E a liberdade. Mas o melhor é parar. Não
me estás a ouvir. Ao deslizares a mão pelo joelho, num gesto indescritivelmente familiar, é como se estivesses a fazer um qualquer protesto. É através destes sinais
que diagnosticamos as doenças dos amigos. Pareces estar a dizer: “Por favor, na tua plenitude e fluência, não te esqueças de mim. Pára. Pergunta qual a razão que
me leva a sofrer”.
Deixa-me inventar-te. (Fizeste tanto por mim.) Estás deitado nesta margem quente, neste incrível dia de Outubro, à hora em que o Sol se põe mas tudo é ainda
claro, a ver passar os barcos através dos ramos despenteados do salgueiro. Queres ser poeta; queres amar. Mas a claridade esplêndida da tua inteligência, a honestidade
impiedosa do teu intelecto (foi contigo que aprendi estas palavras latinas; tratam-se de qualidades que possuis e que me deixam pouco à vontade, revelando os pontos
fracos do meu próprio eu) obrigam-te a parar. És incapaz de te deixar mistificar. Não te iludes com nuvens cor-de-rosa e amarelas.
Será que estou certo? Terei lido correctamente o gesto da tua mão esquerda? Se assim foi, deixa-me ver os teus poemas; com a mão por sobre as folhas, ontem
à noite escreveste de forma tão inspirada, que agora te estás a sentir um tudo-nada idiota. O certo é que não confias na inspiração, nem na tua nem na minha. O melhor
a fazer é passarmos a ponte, caminhar por baixo dos ulmeiros, e voltar ao meu quarto, onde, apenas com as paredes à nossa volta e as cortinas de sarja vermelha corridas,
podemos manter longe de nós estas vozes que nos distraem, estes cheiros e sabores a lima e a outras vidas; a estas caixeirinhas insolentes que arrastam os pés; a
estas olhadelas furtivas que nos são enviadas por uma qualquer figura vaga e indistinta – talvez a Jinny, talvez a Susan, ou seria antes a Rhoda, desaparecendo ao
fundo da alameda? Mais uma vez, e apenas devido a uma ligeira piscadela de olhos, volto a adivinhar o que sentes; escapei-te; desapareci a zumbir como se fosse um
enxame de abelhas, sem qualquer vestígio da tua capacidade de se fixar num único objecto sem sentir remorsos. No entanto, acabarei por voltar.
– Onde existem edifícios como estes – disse Neville –, não suporto a presença de caixeirinhas. Sinto-me ofendido pela sua tagarelice, pelos seus risinhos;
é algo que perturba a minha calma, fazendo com que, em momentos da mais pura exaltação, me veja obrigado a lembrar a degradação humana.
Mas agora, depois das bicicletas, do odor a lima e das figuras que desapareciam nas esquinas, reconquistamos o território que nos pertence. Aqui, somos mestres
da tranquilidade e da ordem; herdeiros de uma tradição orgulhosa. As luzes começam a abrir fendas na praça. O nevoeiro que se eleva do rio vai enchendo estes espaços
antigos. Com toda a suavidade, vão-se agarrando às pedras esbranquiçadas. Nas encostas, as folhas tornaram-se pesadas, as ovelhas balam nos campos úmidos; contudo,
no teu quarto estamos secos. Falamos na maior das intimidades. As chamas elevam-se e esmorecem, fazendo brilhar um qualquer puxador.
Tens andado a ler Byron. Sublinhaste as passagens que parecem estar de acordo com a tua personalidade. Descubro traços por baixo de todas as frases que parecem
exprimir uma natureza, não só sardônica mas também apaixonada; uma impetuosidade que, semelhante a uma borboleta, se precipita contra um vidro duro. Quando pegaste
no lápis, por certo que pensaste: “Eu também dispo a capa da mesma maneira. Eu também estalo os dedos no rosto do destino, desafiando-o”. Porém, Byron nunca fez
chá como tu fazes, enchendo o bule de forma tal, que, quando pões a tampa, o líquido se espalha pela mesa. Existe agora no tampo da mesa uma espécie de lago castanho,
e este espalha-se por entre os teus livros e papéis. Acabas por tentar ensopar o líquido, desajeitado, usando o lenço de assoar. Voltas a guardar o lenço no bolso
– isso não é Byron; és tu; és de tal maneira tu que, daqui a vinte anos, quando formos ambos famosos, atacados pelo reumático e intolerantes, será precisamente por
causa desta cena que te recordarei. E, se por acaso tiveres morrido, chorarei. Houve um tempo em que eras discípulo de Byron; talvez um dia o venhas a ser de Meredith;
depois, hás-de ir a Paris durante as férias da Páscoa e voltarás de gravata preta, transformado em qualquer francês detestável de que nunca se ouviu falar. Deixarei
então de ser teu amigo.
Limito-me a ser uma pessoa – eu. Não tento representar o papel de Catulo, a quem adoro. Sou o mais aplicado de todos os alunos, sempre agarrado a este dicionário
ou àquele bloco de apontamentos, onde acabo por notar todas as formas curiosas de usar o particípio passado. Contudo, ninguém pode passar a vida a desbastar todas
estas inscrições antiquíssimas. Deverei sempre correr o cortinado de forma a ver o livro que leio, semelhante a um bloco de mármore, única e exclusivamente à luz
pálida da lâmpada? Seria de facto uma vida grandiosa; uma espécie de dependência da perfeição; seguir a curva da frase fosse ela para onde fosse, para os desertos,
para as dunas, sem prestar qualquer atenção aos chamados que nos costumam esperar pelo caminho; ser sempre pobre e desamparado; fazer figuras ridículas em Picadilly.
Porém, sou demasiado nervoso para terminar as frases do modo mais apropriado. Falo muito depressa e ando de um lado para o outro, tentando ocultar a minha
agitação. Odeio os lenços gordurosos que possuis – vais acabar por manchar o teu Don Juan. Não me estás a ouvir. Estás antes a falar a respeito de Byron. E enquanto
vais gesticulando, ainda de capa e bengala, tento revelar um segredo que ainda ninguém sabe; estou a pedir-te (é isso que faço mesmo com as costas viradas para ti)
para que tomes a minha vida nas mãos e me respondas se estou condenado a causar sempre má impressão em todos aqueles que amo.
Estou de costas viradas para o teu gesticular. Não, as minhas mãos não podiam estar mais sossegadas. É então que procuro um espaço vazio entre os livros da
estante e aí coloco o teu exemplar do Don Juan. Preferiria ser amado, preferiria ser famoso, a perseguir a perfeição através da areia. Mas será que estou condenado
a provocar a aversão alheia? Serei poeta? Toma, aceita. O desejo que se esconde atrás dos meus lábios, frios como chumbo, mais parece uma bala, algo que aponto às
caixeiras, às mulheres, à falsidade e vulgaridade da vida (e isto precisamente porque a amo) e dirige-se na tua direcção. Apanha – é o meu poema.
– Ele disparou algo semelhante a uma seta – disse Bernard. – Deixou-me o seu poema. Ah, amizade, também eu colocarei flores entre as páginas dos sonetos de
Shakespeare! Ah, amizade, como são penetrantes os teus dardos – ali, ali, mais uma vez ali. Voltou-se para mim, olhou-me bem nos olhos; deixou-me o seu poema. Todos
os vapores se escoam através da chaminé do meu ser. Guardarei até à morte a confiança por ti demonstrada. Semelhante a uma onda de grandes dimensões, semelhante
a uma coluna de águas pesadas, ele passou-me por cima (ou pelo menos a sua presença devastadora) e deixou a descoberto todos os seixos existentes na praia que é
a minha alma. Foi humilhante; vi-me transformado numa série de pequenas pedras. Desapareceram todas as semelhanças. Tu não és o Byron; és apenas tu mesmo. É tão
estranho que alguém nos tenha obrigado a ficar reduzidos a um único ser.
É tão estranho sentir que a linha que se estende a partir de nós vai avançando ao longo dos espaços enevoados que constituem o mundo exterior. Ele já partiu.
Eu fiquei, segurando o seu poema. Entre nós existe esta linha. Contudo, é tão reconfortante saber que aquela presença estranha deixou de se fazer sentir, que deixei
de ser observado! E tão bom correr os estores e admitir que não está mais ninguém presente, sentir que todas aquelas figuras familiares que ele e a sua força superior
fizeram fugir, regressam dos cantos escuros onde se refugiaram. Os espíritos observadores e trocistas que, mesmo neste momento, de crise, zelaram por mim, voltam
a casa. Com a sua ajuda, sou; o Bernard; sou Byron; isto, aquilo, aquele outro. Escurecem o ar e tornam-me mais rico com as suas atitudes trocistas, os seus comentários,
obscurecendo a simplicidade deste momento de emoção. É que eu tenho mais personalidade do que aquela que o Neville julga. Não somos tão simples como aquilo que os
nossos amigos gostariam que fôssemos. No entanto, amar é simples.
Eles regressam, os meus companheiros, a minha família... Agora, a ferida aberta pelo Neville está prestes a sarar. Estou praticamente completo; reconheço o
quanto sou alegre fazendo entrar em cena tudo o que o Neville ignora a meu respeito. Ao afastar as cortinas para observar o que se passa lá fora, sinto que o facto
pouco ou nenhum prazer lhe daria; mas a mim faz-me rejubilar. (Servimo-nos dos amigos para medir o quanto valemos.) A minha visão abrange aquilo que o Neville é
incapaz de alcançar. Lá fora há quem cante canções de caça. Estão a fazer uma espécie de corrida com os perdigueiros. Os rapazinhos de boné não param de bater nos
ombros uns dos outros e de se gabar. Todavia, o Neville, evitando todo o tipo de interferência e semelhante a um conspirador, escapa-se sorrateiramente para o quarto.
Vejo-o afundar-se na cadeira e olhar para as chamas da lareira, que, durante breves instantes, assumiu uma solidez arquitectónica. Pensa no quanto seria bom se a
vida pudesse assumir essa permanência, se a vida pudesse apresentar a mesma ordem – pois aquilo que ele mais deseja é a ordem, detestando a minha desordem byroniana.
É então que corre a cortina e o fecho da porta. Os seus olhos (pois o certo é que o rapaz está apaixonado; a figura sinistra do amor presidiu ao nosso encontro)
enchem-se de desejo; enchem-se de lágrimas. Agarra no atiçador e, com um só gesto, destrói a aparência momentânea de solidez que até então caracterizou os carvões
incandescentes. Tudo muda. A juventude e o amor. O barco passou através do arco constituído pelos salgueiros e está agora debaixo da ponte. O Percival, o Tony, o
Archie, e talvez mais um ou outro, irão para a Índia. Nunca mais nos veremos. Estende então a mão para o bloco de apontamentos – um caderno grosso e embrulhado em
papel mosqueado – e começa a escrever febrilmente, imitando o poeta que mais admira de momento.
Porém, eu quero ficar; debruçar-me à janela; escutar. Lá vem de novo o refrão. Os rapazes estão agora a partir louça – trata-se de algo que também faz parte
da convenção. O refrão, semelhante a uma avalancha de enormes rochas, assalta brutalmente as velhas árvores, e deságua num abandono esplêndido em todos os precipícios.
E lá vão eles a rolar, a galopar, atrás dos cães, atrás das bolas de futebol; sobem e descem como se fossem sacos de farinha agarrados a remos. As divisões desapareceram
– agem como um único homem. O vento forte de Outubro arrasta o tumulto pelo pátio, transformando-o numa malha de som e silêncio. Estão de novo a partir louça – também
isso faz parte da convenção. Uma mulher de idade segue para casa avançando a passo incerto, ao mesmo tempo que transporta uma mala. Vê-se que tem receio que a ataquem
e a deixem caída na sarjeta. Mesmo assim, acaba por parar como se quisesse aquecer as mãos deformadas pelo reumático à chama quente da fogueira, de onde se elevam
inúmeras faúlhas e pedaços de papel. A velhota pára frente à janela iluminada. É isso que sinto, mas o Neville é incapaz de o fazer. É essa a razão que o fará alcançar
a perfeição, enquanto eu me limitarei a deixar atrás de mim uma série de frases imperfeitas, inundadas de areia.
Vem-me agora à mente a imagem do Louis. Que luz maléfica, se bem que inquiridora, lançaria ele sobre este entardecer outonal, sobre este partir de objectos
de louça e este trautear de canções de caça, sobre o Neville, Byron, e a vida que aqui levamos? Os seus lábios finos estão como que cosidos; o rosto é muito pálido;
encontra-se num escritório, embrenhado na leitura de um qualquer documento oficial obscuro. “O meu pai, que é banqueiro em Brisbane – apesar de se envergonhar dele,
está sempre a falar no pai – falhou”. – É por isso que se encontra sentado no escritório, o Louis, o melhor aluno da escola. Todavia, e dado que ando sempre à procura
de contrastes, é com frequência que vejo que tem os olhos trocistas, selvagens, poisados em nós, somando-nos como se fôssemos algarismos insignificantes numa qualquer
conta de grandes dimensões, cujo total não pára de perseguir. E, mais cedo ou mais tarde, molhando em tinta vermelha o aparo de uma qualquer bela caneta, a soma
estará completa; saberemos qual o nosso total; contudo, isso não chegará.
Bang! Acabaram de atirar uma cadeira contra a parede. Sendo assim, estamos condenados. O meu caso é igualmente dúbio. Não estarei eu a deixar-me levar por
emoções injustificadas? Sim, quando me debruço à janela e deixo cair o cigarro, fazendo-o girar levemente até poisar no chão, sinto que o Louis está também a observá-lo.
E diz: “Isso significa qualquer coisa. Mas quê?”.
– As pessoas continuam a passar – disse Louis. – Estão sempre a passar frente à janela deste restaurante. Automóveis, carrinhas, autocarros; e mais uma vez
autocarros, carrinhas, automóveis, todos passam pela janela. Como pano de fundo, apercebo-me da existência de lojas e casas, e também das espirais cinzentas de uma
igreja. Bem à minha frente encontram-se prateleiras de vidro onde repousam pratos carregados de bolos de leite e sandes de fiambre. Tudo isto é como que tornado
difuso pelo vapor que se eleva de um bule de chá. Bem no centro do restaurante paira um cheiro gorduroso a carne de vaca e carneiro, a salsichas e a papas. Encosto
o livro a uma garrafa de molho de Worcester e tento parecer-me com todos os outros.
Porém, nunca o consigo. (Eles continuam a passar, continuam a passar numa procissão desordenada.) Não consigo ler, nem mesmo pedir que me tragam a carne, com
um mínimo de convicção. Estou sempre a repetir “Sou um inglês médio; sou um funcionário público médio”, mas acabo sempre por olhar para o homem sozinho da mesa ao
lado para me certificar do que ele faz. De rostos flexíveis e peles elásticas, a multiplicidade das sensações com que se debatem fazem-nos estar constantemente a
estremecer. Semelhantes a macacos, bastante engordurados como convém à situação. Enche demasiado a sala a um deles. Vendo-o por dez libras. As pessoas continuam
a passar; continuam a passar recortando-se contra as espirais da igreja e as sandes de fiambre. A linha condutora dos meus pensamentos é profundamente afectada por
esta desordem. É por isso que não me consigo concentrar no jantar. “Vendo-o por dez libras. É um móvel bonito mas enche-me demasiado a sala.” Precipitam-se para
as águas como mergulhões com as penas escorregadias devido ao óleo. Todos os excessos que estão para além daquela norma podem ser considerados como vaidade. É isto
o meio-termo; é isto a média. Enquanto isso, os chapéus não param de balançar para baixo e para cima; a porta não pára de se abrir e fechar. Tenho consciência do
fluxo, da desordem; do aniquilamento e do desespero. Se isto é tudo, então não vale a pena. Mesmo assim, não deixo de sentir o ritmo do restaurante. É como se de
uma valsa se tratasse, rodopiando, sempre a rodopiar. As criadas, balançando travessas, não param de girar leite-creme; entregam-nos na altura certa, ao cliente
certo. Os indivíduos normais, incluindo o ritmo delas nos seus próprios ritmos (“Vendo-o por dez libras; aquilo está-me a encher a sala”) aceitam as saladas, os
damascos, os pratos de leite-creme. Onde estará, pois, a brecha dentro de toda esta continuidade? Através de que fissura poderemos nós antecipar a catástrofe? O
círculo não se quebra; a harmonia está completa. É aqui que se situa o ritmo central; é aqui que se encontra a mola comum. Vejo-a expandir e contrair, apenas para
de pronto voltar a se expandir. Contudo, estou de fora. Se falo, imitando a sua pronúncia, ficam de orelhas arrebitadas, à espera que volte a falar, pois estão desejosos
de saber de onde venho – se do Canadá se da Austrália. Eu, que acima de tudo desejo ser amado, sou um estranho, uma criatura que não pertence ao meio. Eu desejaria
sentir fechar-se sobre mim as ondas protectoras da vulgaridade, consegui ver pelo canto do olho um qualquer horizonte distante; apercebo-me de um mar de chapéus
agitando-se para cima e para baixo, numa desordem permanente. É a mim que se dirigem as queixas dos espíritos errantes dos distraídos (uma mulher de dentes estragados
tropeça junto ao balcão). “Leva-nos de volta ao rebanho, a nós, que caminhamos de forma tão dispersa, baloiçando-nos para cima e para baixo, tendo como pano de fundo
vitrinas com pratos de sandes de fiambre. Sim, acabarei por vos reduzir à ordem.
Vou ler o livro que está encostado à garrafa de molho de Worcester. Trata-se de um livro com alguns anéis bastante apertados, algumas afirmações perfeitas,
poucas palavras, mas poesia. Vós, todos vós, ignoram-no. Já se esqueceram do poeta morto. E eu não as posso traduzir para vós de forma a que o poder que delas emana
vos faça ver com clareza a falta de objectivos que vos caracteriza; o quanto o vosso ritmo é barato e inútil; removendo assim aquela degradação que, a não se aperceberem
da vossa falta de objectivos, vos tornará senis mesmo quando jovens. A minha missão será traduzir este poema de forma a torná-lo acessível a todos. Eu, o companheiro
de Platão e de Virgílio, também baterei à porta de painéis de carvalho. Não me submeterei a este desfile inútil de chapéus de coco e cartolas, bem assim como a todas
as plumas que ornamentam as cabeças das mulheres. (A Susan, a quem tanto respeito, limita-se a usar um chapéu de palha durante o Verão, quando o sol é forte.) E
os grãos de vapor que escorrem em gotas desiguais pelo caixilho da janela; e as paragens e os arranques bruscos dos autocarros; e os tropeções junto ao balcão; e
as palavras que vagueiam de forma lúgubre e sem qualquer sentido humano; tudo isto porei em ordem.
As minhas raízes atravessam veios de chumbo e prata, locais úmidos e pântanos que exalam odores, até atingirem um nó feito de raízes de carvalho, bem no centro
do mundo. Surdo e cego, com os ouvidos cheios de terra, mesmo assim escutei rumores de guerras; e também de rouxinóis; senti o som dos passos de inúmeras colunas
de soldados precipitando-se em defesa da civilização, mais ou menos como se fossem aves migratórias em busca do Verão; vi mulheres transportando ânforas vermelhas
até às margens do Nilo. Acordei num jardim, com uma pancada na nuca e um beijo quente; era a Jinny. Lembro-me de tudo isto como alguém que se lembra de gritos confusos
e do desmoronar de colunas negras e vermelhas no decorrer de um qualquer confronto nocturno. Não paro de dormir e de acordar. Ora durmo; ora acordo. Vejo o bule
de chá; as vitrinas repletas de sandes de um amarelo-pálido; os homens de casacões compridos empoleirados nos bancos junto ao balcão; e também, bem atrás deles,
a eternidade. Trata-se de uma imagem que me foi gravada na carne por um homem encapuzado empunhando um ferro em brasa. Vejo este restaurante recortar-se contra as
asas multicoloridas das aves que pertencem ao passado. É por isso que comprimo os lábios, que tenho uma palidez doentia; é daí que vem o meu aspecto pouco simpático
e a amargura com que viro o rosto na direcção do Bernard e do Neville, que passeiam por entre os teixos, que herdam cadeiras de baloiço; e que correm as cortinas
para que a luz das lâmpadas incida sobre os livros que estão a ler.
A Susan merece o meu respeito porque sabe coser. Está sentada a costurar à luz de uma pequena lâmpada, numa casa onde os campos de milho chegam quase até à
janela, facto que me dá bastante segurança. O certo é que sou o mais fraco e o mais novo de todos eles. Sou uma criança que olha para os pés e para os pequenos canais
que a água abriu no cascalho. Digo para mim mesmo que isto é um caracol e aquilo uma folha. Delicio-me com os caracóis; delicio-me com as folhas. Serei sempre o
mais jovem, o mais inocente, o mais crédulo. Vocês estão todos protegidos. Eu estou nu. Quando a empregada se desloca, é para vos entregar os damascos e o leite-creme
sem qualquer hesitação, como uma irmã. Vocês são seus irmãos. Mas quando me levanto, sacudindo as migalhas do sobretudo, coloco uma gorjeta demasiado elevada, um
xelim, bem debaixo do prato, pois assim ela só a poderá encontrar depois de eu ter saído, e o seu desprezo, revelado por uma gargalhada, só me poderá atingir depois
de eu ter passado as portas de vaivém.
– O vento levanta a persiana – disse Susan. – Jarras, taças, tapetes, e até mesmo a velha poltrona coçada, aquela que tem um buraco, tudo se tornou distante.
As mesmas listras desmaiadas espalham-se pelo papel de parede. As aves deixaram de cantar em coro, e apenas uma teima em o fazer, junto à janela do quarto. Vou calçar
as meias e esgueirar-me em silêncio pela porta, atravessar a cozinha e o jardim, passar junto à estufa e acabar no prado. É ainda muito cedo. A charneca está coberta
de nevoeiro. O dia é duro e áspero como uma mortalha de linho. Porém, acabará por se tornar macio e por aquecer. A esta hora, a esta hora matinal e calma, julgo-me
o campo, o celeiro, as árvores; os bandos de aves pertencem-me, o mesmo se passando com esta jovem lebre, que dá um passo no preciso momento em que a estou prestes
a pisar. Minha é a garça que, com indolência, estende as enormes asas; a vaca que vai ruminando à medida que avança; o vento e as andorinhas ariscas; o vermelho
desmaiado do céu e o verde em que este acaba por se transformar; o silêncio e os sinos a tocar; o chamamento do homem que atrela os cavalos ao carro, tudo me pertence.
Não posso ser dividida, separada. Mandaram-me para a escola; mandaram-me para a Suíça para completar a minha educação. Odeio linóleo; odeio figueiras e montanhas.
Deixem-me antes deitar neste solo liso, tendo por cima de mim um céu muito pálido onde as nuvens se movem devagar. O carro vai-se tornando cada vez maior à medida
que sobe a estrada. As aves juntam-se no meio do correio – ainda não precisam de voar. O fumo vai-se elevando. A rigidez do amanhecer vai desaparecendo. O dia começa
a se agitar. Assiste-se ao regressar da cor. As cearas e o dia vão-se tornando amarelos. A terra pesa bastante por baixo dos pés.
Mas, afinal, quem sou eu, esta pessoa que se encosta ao portão e observa o nariz do cão que a acompanha? Às vezes penso (ainda não cheguei aos vinte) que não
sou uma mulher, mas antes a luz que incide neste portão, no solo. Por vezes, penso ser as estações do ano, Janeiro, Maio, Novembro; a lama, o nevoeiro, a alvorada.
Não posso ser empurrada para o meio dos outros sem me misturar com eles. Contudo, apoiada ao portão, sinto um peso que se formou junto a mim e me acompanha. Na Suíça,
quando estava na escola, formou-se em mim qualquer coisa, qualquer coisa de forte.
Nada de suspiros e gargalhadas, de rodeios e frases ingênuas; nada que se compare à estranha forma de comunicar característica da Rhoda, o modo como ela nos
olha por cima do ombro quando nos avista; nem as piruetas da Jinny, uma criatura que parece ter sido feita de uma só peça, tronco e membros. O que tenho para dar
é pesado. Não consigo flutuar com suavidade nem misturar-me com os outros. Prefiro o olhar dos pastores que encontro no caminho; o olhar das ciganas que alimentam
os filhos ao lado das carroças, exactamente do mesmo modo que amamentarei os meus filhos. Já não falta muito para que, ao calor do meio-dia, com as abelhas a zumbir
em torno das malvas, o meu amado entre em cena. Por certo que estará à sombra do cedro. Responderei à sua saudação com apenas uma palavra. Dar-lhe-ei aquilo que
se formou em mim. Terei filhos, criadas de avental, camponeses com forquilhas, uma cozinha para onde levarão os cordeiros doentes para que se possam aquecer, onde
os presuntos e as réstias de cebolas brilharão à luz. Serei como a minha mãe, silenciosa no seu avental azul, fechando à chave todos os armários.
Estou com fome. Vou chamar o cão. Vêm-me à ideia imagens de côdeas, miolo de pão, manteiga e pratos brancos colocados numa divisão cheia de sol. Voltarei a
casa através dos campos. Caminharei por entre a erva com passadas fortes e regulares, ora desviando-me para evitar uma poça ora saltando por cima de um arbusto.
Vão-se formando gotas de suor na minha camisa grosseira; os sapatos tornam-se flexíveis e escuros. O dia já não revela sinais de dureza; antes adquiriu tonalidades
cinzentas, verdes e ocres. As aves deixaram de se concentrar na estrada.
Regresso, qual raposa ou gato em cujas peles a geada deixou manchas cinzentas e cujas patas endureceram devido ao contacto com a terra dura. Abro caminho através
das couves, o que faz com que as suas folhas estalem e o orvalho que nelas repousa vá caindo aos poucos. Sento-me à espera de ouvir os passos do meu pai arrastando-se
através da passagem, apertando uma qualquer erva entre os dedos. Vou enchendo chávena após chávena, enquanto as flores que ainda não abriram se mantêm muito direitas
na jarra que se encontra na mesa, por entre os frascos de compota, os pãezinhos e a manteiga.
Mantemo-nos em silêncio.
Vou até ao armário e pego nas sacas úmidas onde se guardam as sultanas; espalho a farinha na mesa da cozinha, a qual está impecavelmente limpa. Amasso; estendo;
bato; enfio as mãos no interior quente da massa. Deixo que a água fria se espalhe por entre os meus dedos. O lume ruge; as moscas zumbem em círculos. Todas as minhas
passas-de-corinto e bagos de arroz, os saquinhos azuis e prateados, tudo isto voltou a ser fechado no armário. A carne está ao lume; a massa para o pão vai aumentando
de tamanho por baixo de uma toalha limpa, adquirindo o formato de uma cúpula. De tarde, desço até ao rio. O mundo está-se a reproduzir por inteiro. As moscas vão
voando de erva em erva. As flores estão pesadas devido ao pólen. Os cisnes vogam pelas águas na mais perfeita das ordens. As nuvens, agora quentes e manchadas de
sol, voam por sobre as colinas, deixando um rasto dourado na água e no pescoço dos cisnes. Levantando uma pata a seguir à outra, as vacas vão ruminando enquanto
percorrem o pasto. Vasculho a erva à procura de um cogumelo branco; parto-lhe o caule e apanho a orquídea cor de rubi que cresce junto a ele, acabando por juntar
ambas as coisas ao pé uma da outra, a terra ainda agarrada às raízes. Está na hora de ir para casa preparar o chá para o meu pai e servi-lo na mesa onde se encontram
as rosas vermelhas.
É então que chega a noite e se acendem as luzes. E quando a noite chega e as luzes se acendem, a hera como que fica iluminada por um halo amarelo. Sento-me
junto à mesa com a minha costura. Penso na Jinny; na Rhoda; e ouço o ruído provocado pelas rodas das carroças puxadas pelos cavalos da quinta ao regressarem a casa;
o vento nocturno traz-me o rugido do trânsito. Olho para as folhas que estremecem no jardim às escuras e penso: “Estão todos em Londres a dançar. A Jinny está a
beijar o Louis.”
– É tão estranho – disse Jinny – que as pessoas durmam, que apaguem as luzes e subam as escadas. A estas horas já tiraram os vestidos e puseram camisas de
dormir brancas. Já não há luzes em nenhuma daquelas casas. Os contornos das chaminés recortam-se contra o céu; na rua, umas duas lâmpadas ardem do modo que lhes
é peculiar quando delas ninguém precisa. Nas ruas só se vêem alguns pobres apressados. Nesta rua não existe ninguém; o dia terminou. Há alguns polícias nas esquinas.
No entanto, só agora começou a noite. Sinto-me brilhar na escuridão. Sinto o toque da seda nos joelhos. Esfrego suavemente uma perna contra a outra. Sinto no pescoço
o toque frio das pedras do colar. Sinto os pés comprimidos dentro dos sapatos. Estou sentada muito direita para não tocar com o cabelo no espaldar da cadeira. Estou
enfeitada, estou preparada. Esta é apenas uma pausa momentânea; o instante escuro. Os violinistas acabaram de levantar os arcos.
Neste momento ouço um carro parar. Faz-se luz numa faixa do pavimento. A porta vai-se abrindo e fechando. As pessoas estão a chegar; não falam; limitam-se
a entrar. Ouço o som sibilante provocado pelas capas deslizando pelos ombros dos que as despem. Trata-se do prelúdio, do princípio. Olho, espreito, espalho pó no
rosto. Tudo está certo; devidamente preparado. O meu cabelo descreve uma curva. Os meus lábios têm o devido tom de vermelho. Estou pronta a me juntar aos homens
e mulheres que percorrem a escada, os meus pares. Passo por eles e exponho-me aos seus olhares do mesmo modo que eles se expõem ao meu. Semelhantes a relâmpagos,
olhamo-nos sem mostrar sinais de reconhecimento ou de que estamos dispostos a abrandar. A comunicação é feita através dos corpos. É este o meu chamamento. É este
o meu mundo. Tudo está pronto e decidido; os criados, sempre, sempre presentes, pegam no meu nome, no meu nome fresco e desconhecido, e lançam-no à minha frente.
Entro.
Cá estão as cadeiras douradas nas salas vazias e como que à espera, e flores (maiores e muito mais paradas que as naturais) recortando-se contra as paredes
em manchas verdes e brancas. Foi com tudo isto que sonhei; foi tudo isto que pressagiei. Pertenço a este mundo. Piso com naturalidade as carpetes espessas. Deslizo
com facilidade por sobre os soalhos encerados. Sob esta luz, sob este cheiro, começo a me desdobrar, semelhante a um feto, cujas folhas se vão desdobrando aos poucos.
Paro. Tomo consciência deste mundo. Entre as formas brilhantes das mulheres, verdes, cor-de-rosa, cinzento-pérola, encontram-se os corpos direitos dos homens. Estão
vestidos de preto e branco; estão como que ocultos por detrás das roupas. Volto a ver a imagem de um túnel reflectida na janela. Aquela acaba por se mover. À medida
que avanço, as figuras pretas e brancas daqueles homens desconhecidos seguem-me com os olhos; quando me viro para olhar para um quadro, viram-se também. As suas
mãos como que esvoaçam em direcção aos laços que usam no pescoço. Tocam nos coletes, nos lenços de assoar. São muito jovens. Estão desejosos de causar boa impressão.
Sinto nascer em mim milhares de capacidades. Sou maliciosa, alegre, lânguida, melancólica. Apesar de estar como que enraizada, sinto-me flutuar. Com um aspecto completamente
dourado, flutuo naquela direcção e digo a este indivíduo: “Vem”. Ao me encolher, digo “Não” àquele outro. Há um que se afasta do grupo que se encontra debaixo do
camarim de vidro. Aproxima-se. Vem na minha direcção. Trata-se do momento mais excitante que alguma vez vivi. Flutuo. Ondulo. Estendo-me como uma planta aquática,
ora nesta ora naquela direcção, mas sempre presa a um ponto fixo, pois só assim ele poderá vir ao meu encontro. “Vem”, digo, “vem”. Pálido, de cabelo escuro, aquele
que se aproxima é melancólico, romântico. E eu mostro-me maliciosa, volúvel e caprichosa, precisamente porque ele é melancólico e romântico. Cá está ele, mesmo ao
meu lado.
Agora, com um ligeiro puxão, mais ou menos como uma lasca que é arrancada a uma pedra, sou arrastada: caio junto com ele; sou levada para longe. Deixamo-nos
levar por esta doce corrente. Saímos e entramos ao som desta música hesitante. As pedras impedem agora o deslize da corrente da dança; esta agita-se, estremece.
Acabamos por ser compelidos a nos juntar a esta enorme figura. Ela mantém-nos juntos; não nos conseguimos escapar das suas paredes sinuosas, hesitantes, abruptas.
Os nossos corpos, forte o dele, leve o meu, são forçados a se manter dentro deste corpo. Depois, como que para nos dar a ilusão de espaço, toma-nos nas suas dobras
sinuosas e embala-nos de um lado para o outro. De súbito, a música pára. Apesar disso, o meu sangue não pára de correr. A sala gira em meu redor.
Acaba por parar.
Anda, vamos passear por entre as cadeiras douradas. O corpo é mais forte do que aquilo que pensava. Estou mais tonta do que o que era suposto estar. Ninguém
mais me interessa a não ser este homem, cujo nome desconheço. Lua, achas que somos aceitáveis? Não seremos nós encantadores, eu de cetim ele de preto e branco? Os
meus iguais bem me podem agora olhar. Encaro-vos bem de frente, homens e mulheres. Pertenço ao vosso mundo. O vosso mundo é o meu. Pego agora neste cálice esguio
e bebo um gole do seu conteúdo. O vinho tem um sabor drástico, ácido. Sou obrigada a estremecer enquanto bebo. Aromas e flores, luz e calor, tudo aqui se concentra
num líquido amarelo, fogoso. Mesmo por trás das minhas costas, qualquer coisa seca e de olhos muito grandes, fecha-se sobre si mesma, embalando-se suavemente até
adormecer.
Chama-se a isto êxtase, alívio. A alavanca que me impedia de falar abranda a pressão que exercia. As palavras agrupam-se e acabam por jorrar, umas a seguir
às outras. A ordem é perfeitamente arbitrária. É como se saltassem para os ombros umas das outras. Os seres sós e solitários tropeçam e transformam-se em muitos.
Não interessa o que digo. Semelhante a uma nave a esvoaçar, uma frase atravessa o espaço vazio que se estende entre nós. Acaba por poisar nos lábios dele. Volto
a encher o copo. Bebo. Desce um véu entre nós. Encontro espaço no calor e na privacidade de uma outra alma. Encontramo-nos ambos num ponto muito alto, num qualquer
desfiladeiro a pino. Melancólico, ele deixa-se ficar no ponto mais elevado do trilho. Inclino-me. Pego numa flor azul e, em bicos dos pés para o poder alcançar,
prendo-lha no casaco. Pronto! Trata-se do meu momento de êxtase. E agora já passou.
Invadem-nos a preguiça e a indiferença. As pessoas continuam a passar. Perdemos consciência dos nossos corpos unidos, ocultos por sob a mesa. Também gosto
de homens louros, de olhos azuis. A porta abre-se. A porta não pára de se abrir. Digo para mim mesma que, da próxima vez que ela se abrir, o curso da minha vida
mudará. Quem é que acaba de entrar? Oh, trata-se apenas de um criado carregado de copos. Aquele é já um senhor de idade – junto a ele não passaria de uma criança.
Aquela é uma grande dama – a seu lado teria de fingir.
Vejo algumas raparigas da minha idade, em relação às quais sinto um antagonismo respeitável. Estou entre os meus. Pertenço a este mundo. É neste facto que
reside o meu risco, a minha aventura. A porta abre-se. Oh, vem, digo eu a este, emitindo sinais dourados com todo o corpo. “Vem”, e ele aproxima-se de mim.
– Mover-me-ei por trás deles – disse Rhoda –, como se tivesse visto alguém conhecido. Contudo, não conheço ninguém. Afastarei a cortina para ver melhor a Lua.
O esquecimento acalmará a agitação em que me debato. A porta abre-se; o tigre salta. A porta abre-se; o terror esgueira-se por entre ela; terror e mais terror, perseguindo-me.
Melhor será visitar às escondidas os tesouros que separei. No outro lado do mundo, há colunas reflectidas em lagos. As andorinhas mergulham as asas nos lagos escuros.
Contudo, a porta não pára de se abrir e as pessoas vão entrando; avançam todas na minha direcção. Com sorrisos falsos, destinados a disfarçar a crueldade, a indiferença,
apoderam-se de mim. A andorinha molha as asas; a Lua passeia solitária através de oceanos azuis. Sou obrigada a lhes apertar a mão; sou obrigada a responder. Mas
que resposta deverei dar? Sou obrigada a usar este corpo desajeitado, sem graça, e a aceitar as suas manifestações de desprezo, de indiferença, eu, que sonho com
colunas de mármore e lagos situados no outro lado do mundo, onde as andorinhas molham as asas.
A noite escureceu um pouco mais os contornos das chaminés. Do lado de fora, por sobre o ombro do meu companheiro, vejo um gato, ligeiro, à vontade, sem estar
inundado em luz, sem estar preso em seda, livre para parar, para se espreguiçar, para voltar a andar. Odeio todos os pormenores da vida individual. Contudo, sou
obrigada a escutá-los. Sinto em mim uma enorme pressão. Não me posso mover sem deslocar o peso de séculos. Sinto-me espicaçada por um milhão de setas. O desprezo
e o sentido do ridículo não param de me dar alfinetadas. Eu, que seria capaz de enfrentar o granizo, e, com toda a alegria, deixar o granizo sufocar-me, estou como
presa neste local; sinto-me exposta. O tigre salta. As línguas, semelhantes a chicotes, não param de me atingir. Ágeis, incessantes, não param de me bater. Tenho
de fingir e mantê-los à distância com mentiras. Qual será o amuleto capaz de me proteger deste desastre? Que rosto poderei invocar para apagar este incêndio. Penso
nos rótulos das caixas; em mães de cujos joelhos largos as saias se espalham; em clareiras onde desembocam os caminhos íngremes das montanhas. Escondam-me, grito,
pois sou a mais nova, a mais desprotegida de todos vós. A Jinny sente-se tão à vontade como uma gaivota cavalgando as ondas, distribuindo olhares à esquerda e à
direita, dizendo isto e aquilo, mas sempre com convicção. Enquanto isso, eu vejo-me obrigada a mentir.
Quando estou só, balanço as minhas taças; sou dona e senhora da minha frota de navios. Porém, aqui, a virar as pregas das cortinas de brocado da minha anfitriã,
sinto-me repartida em mil pedaços; deixei de ser una. De que será então feita a sabedoria que a Jinny demonstra ao dançar; a certeza revelada pela Susan quando,
inclinando-se suavemente junto ao candeeiro, enfia a linha de algodão branco através do buraco da agulha? Elas dizem Sim; elas dizem Não; eles batem com os punhos
na mesa. Mas eu tenho dúvidas; estremeço; vejo a sombra do espinheiro selvagem projectar-se no deserto.
Tal como se tivesse um fim em vista, vou atravessar a sala até chegar à varanda por baixo do toldo. Vejo o céu, a que o luar confere uma aparência suave. Observo
igualmente os contornos da praça e os dois indivíduos sem rosto que se recortam como estátuas contra o firmamento. Trata-se, pois, de um mundo imune a mudanças.
Ao passar por esta sala repleta de línguas que me cortam como se fossem facas, fazendo-me gaguejar, levando-me a mentir, encontrei rostos sem feições, despojados
de beleza. Os casais de namorados ocultam-se por entre as árvores. O polícia está de sentinela a uma esquina. Um homem passa. Trata-se de um mundo imune a mudanças.
Todavia, ainda não me recompus o suficiente, apoiada em bicos de pés junto à lareira, afogueada devido ao ar quente, com medo que a porta se abra e o tigre salte,
com medo até de formar uma frase. Tudo o que digo está sujeito a ser permanentemente contrariado. Sou interrompida de cada vez que a porta se abre. Ainda não fiz
os vinte e um. Estou destinada a ser despedaçada. Estou destinada ao ridículo. Estou destinada a vogar ao sabor das línguas de todos estes homens e mulheres de rostos
contraídos, tal como se fosse um pedaço de cortiça a boiar num mar encapelado. Semelhante a uma alga, sou atirada para longe de cada vez que a porta se abre. Sou
a espuma que cobre de branco os contornos das rochas, até mesmo os mais recônditos; aqui, nesta sala, também sou uma rapariga. Depois de ter abandonado as almofadas
verdes onde se reclinava, espreitando furtivamente através das jóias marinhas, o Sol mostrou o rosto e olhou de frente para as ondas. Estas caíam a um ritmo regular.
Caíam provocando um som semelhante ao dos cascos dos cavalos na turfa. Os salpicos por si provocados elevavam-se como lanças empunhadas por sobre as cabeças dos
cavaleiros. Enchiam a praia com as suas águas de um azul metalizado, salpicadas de brilhos cor de diamante. Recuavam e avançavam com a força, a energia, de uma máquina
que não pára de trabalhar. O Sol incidia nos campos de milho e nos bosques. Os rios tornaram-se azuis e como que adquiriram muitas dobras, os relvados que se estendiam
até à beira-mar adquiriram uma coloração tão verde como a das penas das aves esvoaçando à brisa matinal. As encostas curvas e contraídas, davam a sensação de estarem
a ser puxadas por tenazes, mais ou menos como os músculos envolvem os membros; e os bosques, orgulhosamente eriçados nos seus flancos, lembravam as crinas dos cavalos
quando são cortadas rente.
No jardim, onde as árvores se erguiam frondosas por cima dos canteiros, dos charcos e das estufas, os pássaros cantavam ao sol, cada um por si mesmo e não
em coro. Um cantava por baixo da janela do quarto; outro, no ramo mais alto do lilás; outro ainda, empoleirado no muro. Todos cantavam de forma estridente com paixão,
com veemência, como se para deixarem o canto explodir, em nada se importando com o facto de arruinarem as melodias das outras aves. Os seus olhos redondos brilhavam
de excitação; as patas agarravam-se com força aos ramos e aos parapeitos. Cantavam, expostas e sem qualquer tipo de abrigo, ao ar e ao sol, belíssimas na sua nova
plumagem, estriada ou sarapintada como as conchas, aqui manchada de azul claro, ali salpicada de dourado, aqui e ali com uma simples pena a destoar do conjunto.
Cantavam como se a própria manhã as levasse a isso. Cantavam como se os contornos afiados da existência as obrigassem a quebrar a doçura da luz azul esverdeada;
a umidade da terra empapada lança emanações e exalações provenientes dos vapores oleosos da cozinha; o odor quente da carne de carneiro e de vaca; a riqueza dos
doces e das frutas; os restos moles e as cascas provenientes do caixote do lixo, sobre as quais pesava uma espécie de vapor pesado e lento. Era sobre todas estas
coisas encharcadas, manchadas e encarquilhadas devido à umidade, que as aves se lançavam, abruptas, impiedosas, de bico aberto. De repente, sem que nada o fizesse
prever, como que se atiravam dos lilases e das vedações. Observavam os caracóis somente para depois lhes partirem a casca de encontro a uma pedra. Batiam com fúria,
metodicamente, até a casca se partir e qualquer coisa de viscoso jorrar da fenda. Batiam de novo as asas e elevavam-se nos ares, emitindo notas curtas e agudas,
até acabarem por se empoleirar nos ramos superiores de uma qualquer árvore, de onde se deixavam ficar a observar as folhas e as espirais que se encontravam mais
abaixo, bem assim como o solo coberto de botões brancos, ervas que flutuavam ao vento, e o mar, batendo contra a praia, com um ritmo semelhante ao de um tambor,
que faz avançar um regimento de soldados envergando turbantes enfeitados de plumas. De vez em quando, as suas vozes uniam-se em escalas melodiosas, tal como acontece
com os vários cursos de água que percorrem as montanhas e que, ao se unirem, provocam uma corrente de espuma antes de se precipitarem cada vez mais depressa ao longo
do mesmo canal, arrastando consigo todas as folhas que encontram. No entanto, acabam por bater contra uma pedra; dividem-se.
Dentro de casa, o sol penetrava em colunas de contornos bem delineados. Tudo aquilo em que a luz tocava adquiria uma existência fanática. Os pratos transformavam-se
em lagos brancos. As facas aparentavam ser punhais de gelo. Sem que nada o fizesse prever, os copos pareciam estar suspensos em raios de luz. Cadeiras e mesas subiam
à superfície como se tivessem estado debaixo de água, e, ao se elevarem, era como se estivessem envoltas num véu de cores, vermelho, laranja, púrpura, mais ou menos
como a casca de um fruto maduro. Os veios que sulcavam as louças, os poros da madeira, as fibras dos tapetes, tudo se tornava mais nítido e como que melhor gravado
nos objectos a que pertenciam.
Coisa alguma possuía sombra. Uma determinada jarra era de tal forma verde, que os olhos que a fitavam eram como que sugados através de um canal devido à sua
intensidade, ficando a ela agarrados como lapas às rochas. Só então as formas indistintas ganhavam consistência. Via-se aqui o bojo de uma cadeira; ali, o volume
de um armário. E, à medida que a luz aumentava, arrastava à sua frente os bandos de sombras que antes ali haviam reinado, agrupando-os e suspendendo-os no pano de
fundo que suportava toda a cena.
– Que pálida, que estranha – disse Bernard – é a cidade de Londres com todas as suas torres e cúpulas, repousando sob o nevoeiro. Guardada por gasômetros e
chaminés de fábricas, a nossa aproximação não lhe perturba o sono. Ela aperta o formigueiro contra o peito. Todos os gritos e clamores estão suavemente envolvidos
em silêncio. Nem a própria Roma tem um ar mais majestoso. Mesmo assim, é para lá que nos dirigimos. A sua sonolência maternal começa já a dar mostras de não ser
muito natural. Por entre o nevoeiro elevam-se colinas cobertas de casas. Fábricas, catedrais, cúpulas de vidro, instituições e teatros, tudo isto surge perante os
nossos olhos. O primeiro comboio da manhã, vindo do Norte, dirigiu-se na sua direcção como se fosse um míssil. Afastamos a cortina para observar a paisagem. Rostos
vazios e expectantes olham-nos quando passamos pelas estações a grande velocidade. Como se antevissem a morte ao sentirem a deslocação de ar por nós provocada, os
homens agarram-se aos jornais com um pouco mais de força. Estamos prestes a explodir nos flancos da cidade, do mesmo modo que uma granada o faz junto ao corpo de
um animal majestoso, maternal. A cidade zumbe e sussurra; está à nossa espera.
Entretanto, à medida que vou espreitando pela janela do comboio, deixo-me invadir por uma sensação estranha, persuasiva, de que, e devido à minha grande felicidade
(estou noivo e vou-me casar), me tornarei parte desta velocidade, deste míssil disparado contra a cidade. A tolerância e a submissão deixam-me paralisado. Poderia
até dizer coisas como: “Meu caro senhor, por que se inquieta, por que razão pega na pasta e comprime contra ela o boné que usou durante toda a noite?”. Nada do que
fazemos tem utilidade. Paira sobre nós uma unanimidade esplêndida. O facto de termos todos o mesmo desejo – chegar à estação – transforma-nos numa massa uniforme
semelhante às asas cinzentas de um enorme ganso (ao fim e ao cabo, e apesar de a manhã ser bonita, o certo é que não tem qualquer cor). Não quero que o comboio pare
com um solavanco. Não quero quebrar a corrente que nos fez estar toda a noite sentados em frente uns dos outros. Não quero sentir que o ódio e a rivalidade voltaram
a reinar. A nossa comunidade, um grupo de indivíduos sentados num comboio apressado e com um único desejo em mente, chegar a Euston, era bastante simpática. Mas
atenção! Acabou-se. Conseguimos o que desejávamos. Chegamos à plataforma. Gera-se a pressa e a confusão quando todos se precipitam rumo ao portão, na tentativa de
serem os primeiros a chegar ao elevador. Contudo, não quero ser o primeiro a assumir o fardo de possuir uma vida individual. Eu, desde segunda-feira (o dia em que
ela me aceitou), via-me confrontado com um profundo sentimento de identidade, de tal forma que não podia ver a escova de dentes no copo sem dizer “A minha escova
de dentes”, não desejo agora outra coisa senão abrir as mãos e deixar cair todos os meus haveres, limitar-me a ficar na rua sem participar, a observar os autocarros,
sem sentir quaisquer desejos; sem invejas; apenas com aquilo a que se poderia chamar uma curiosidade ilimitada a respeito do destino humano, e isto se a minha mente
ainda tivesse limites. Contudo, já nada possui. Cheguei; fui aceite. Nada peço em troca. Depois de me ter satisfeito como uma qualquer criança que acabou de mamar,
estou agora livre para me afundar nas profundezas de tudo o que passa, nesta vida omnipresente e geral. (Só agora me apercebo do papel importante desempenhado pelas
calças; de nada serve possuir uma cabeça inteligente se as calças estiverem coçadas.) É possível observar-se algumas hesitações curiosas à porta do elevador. Por
este lado e por aquele, pelo outro? É então que a individualidade se impõe. Acabam todos por partir. São impelidos por uma qualquer necessidade. Um qualquer assunto
insignificante, por exemplo, chegar a horas a um encontro, comprar um chapéu, separar estes belíssimos seres humanos até então fortemente unidos.
Pela parte que me toca, não tenho objectivos. Não tenho ambições. Deixar-me-ei levar pelos impulsos gerais. A superfície da minha mente desliza como um fio
de água cinzento-claro que reflecte tudo por onde passa. Não me consigo lembrar do meu passado, do meu nariz, nem sequer da cor dos meus olhos, já para não falarmos
da opinião geral que formo a meu respeito. Apenas em situações de emergência, num cruzamento, numa berma, me vejo frente a frente com o desejo de preservar o meu
corpo, o qual me agarra e me obriga a parar aqui, frente ao autocarro. Parece que nos recusamos a deixar de viver. Depois, a indiferença volta a descer sobre nós.
O rugir do trânsito, a passagem de tantos rostos impossíveis de diferenciar, este ou aquele caminho, tudo me intoxica e me faz sonhar; tudo apaga as feições das
faces dos que comigo se cruzam. As pessoas quase me podiam atravessar. Para mais, qual o significado deste instante, deste dia específico em que me vi envolvido?
Os ruídos do tráfego podem ser comparados a outros sons – o das árvores a restolhar e o rugir dos animais selvagens. O tempo como que fez recuar um pouco a sua progressão;
o nosso avanço parece ter sido cancelado. Para falar com franqueza, acho que os nossos corpos estão nus. Estamos apenas revestidos por um tecido com botões; e por
baixo destes passeios existem conchas, ossos e silêncio.
E claro que, tal como acontece durante o sono, as minhas tentativas para ir além da superfície do rio, os meus sonhos, são interrompidos, puxados, distorcidos
por sensações, espontâneas e irrelevantes, de curiosidade, ganância e desejo. (Cobiço aquela mala, etc...) Não, mas desejo ir mais fundo; visitar as profundezas;
de vez em quando dar-me ao luxo de nem sempre agir, mas também de explorar; de escutar sons vagos e ancestrais de ramos a partir, de mamutes; de me deixar levar
pela fantasia impossível de abraçar o mundo inteiro com os braços do conhecimento – algo francamente impossível para aqueles que agem. Não estarei eu, à medida que
avanço, a ser percorrido por estranhos tremores e vibrações de simpatia, que, a nada terem a ver com um ser individual, me pedem para abraçar a multidão, estes mirones
e excursionistas baratos, estas raparigas furtivas e escorregadias que, ignorando a sombra negra que sobre elas paira, olham as montras das lojas? Porém, estou consciente
da nossa existência efêmera.
Todavia, é verdade que não posso deixar de negar a sensação de que a vida me foi misteriosamente prolongada. Será que poderei ter filhos, lançar sementes que
consigam sobreviver a esta geração, a estes indivíduos eternamente condenados, arrastando-se mutuamente pelas ruas numa competição incessante? As minhas filhas virão
passear aqui em verões que ainda não chegaram; os meus filhos desbravarão outros campos. É por isso que não somos gotas de chuva, de pronto secas pelo vento; fazemos
florescer os jardins e rugir as florestas; não cessamos de tomar formas diferentes, isto para todo o sempre.
São estas coisas que explicam a minha confiança, a estabilidade central (o que de outra forma seria monstruosamente absurdo) que demonstro ao enfrentar esta
multidão, abrindo sempre caminho por entre os corpos das pessoas, aproveitando os momentos seguros para atravessar. Não se trata de vaidade; o certo é que estou
despido de ambições; não me lembro dos meus dons ou idiossincrasias especiais, bem assim como das marcas características da minha pessoa: olhos, nariz ou boca. Pelo
menos neste momento, despojei-me de mim.
Mas atenção, sinto-o voltar. É impossível extinguir este cheiro persistente. Trata-se de algo que se infiltra na mais pequena fenda existente na estrutura
– a nossa identidade. Não pertenço à rua – não, observo-a. É assim que os indivíduos se isolam. Por exemplo, no cimo daquela rua secundária há uma rapariga à espera;
de quem? Uma história romântica. Na parede daquela loja vê-se uma pequena grua. É então que me pergunto qual o motivo que poderia ter levado aquele objecto a ser
ali colocado, e de pronto imagino a história de uma dama vestida de vermelho, inchada, gordíssima, sendo puxada de cabriolé por um marido alagado em suor, alguém
na casa dos sessenta. Trata-se de uma história grotesca. Claro que sou um falsário de palavras, alguém que usa tudo e mais alguma coisa para soprar bolas de sabão.
E, é à custa destas observações espontâneas que me vou elaborando, diferenciando, e, ao escutar a voz que murmura à minha passagem: “Olha! Toma nota disto!”, imagino-me
destinado a conceber, numa qualquer noite de Inverno, um significado para as minhas observações – uma série de linhas que se completam e que sumarizam tudo o que
vejo. No entanto, os solilóquios nas ruas secundárias não tardam a perder o interesse. Preciso de uma audiência. É precisamente aí que reside a minha desgraça. É
sempre isso que corta as arestas da frase fina, impedindo a sua formação. Não me consigo imaginar numa qualquer casa-de-pasto de aspecto sórdido, a pedir a mesma
bebida dia após dia, e a me deixar embebedar completamente num só líquido – esta vida. Construo uma frase e fujo com ela para uma qualquer sala bem mobiliada, onde
a luz de dezenas de velas a poderão iluminar. Sinto necessidade de olhos para poder empregar os meus floreados. Concluo que, para ser eu mesmo, necessito da luz
dos olhos de terceiros, e por isso não posso estar completamente seguro daquilo que sou. Os seres autênticos, por exemplo, o Louis e a Rhoda, só se revelam de forma
completa na maior das escuridões. Ressentem-se da luz, das cópias. Destroem os quadros anteriormente traçados a seu respeito, atirando-os contra o solo. As palavras
do Louis lembram blocos de gelo. São sólidas, compactas, douradas. Então, e depois desta sonolência, desejo brilhar, brilhar à luz que emana dos rostos dos meus
amigos. Tenho estado a atravessar o território sombrio da não identidade. Trata-se de uma terra estranha. Num momento de calma, num momento de satisfação avassaladora,
escutei os suspiros da corrente que flui e reflui para lá deste círculo de luz brilhante, deste tamborilar de fúria insensata. Por breves instantes, fui possuído
por uma enorme calma. Talvez a isto se chame felicidade. Uma série de sensações irritantes fazem-me voltar a mim; curiosidade, avidez (tenho fome), e o desejo irresistível
de ser eu mesmo. Penso nas pessoas a quem tenho coisas para dizer: o Louis, o Neville, a Susan, a Jinny e a Rhoda. Junto delas sou multifacetado. São elas que me
tiram das trevas. Graças a Deus, vamo-nos encontrar esta noite. Graças a Deus, não precisarei mais de ficar só. Vamos jantar juntos. Vamo-nos despedir do Percival,
que vai para a Índia. Apesar de a hora ainda vir longe, sinto as sombras dos amigos ausentes. Vejo o Louis, esculpido em granito, semelhante a uma estátua; o Neville,
exacto, cortante como uma tesoura; a Susan, com aqueles olhos semelhantes a pedaços de cristal; a Jinny, a dançar como uma chama, febril, quente, por sobre a terra
seca; e a Rhoda, a ninfa da fonte sempre úmida. Tratam-se de imagens fantásticas – estas visões dos amigos ausentes são irreais, grotescas, desaparecem ao primeiro
toque de uma bota verdadeira. Apesar disso, são elas que me mantêm vivo. São elas que afastam estes vapores. A solidão começa a me impacientar – sinto que todos
estes véus que me cercam se começam a soltar. Oh, como seria bom pô-los de parte e entrar em acção! Qualquer pessoa serviria. Não sou esquisito. O varredor das ruas
serviria; o carteiro; o empregado do restaurante francês; melhor ainda, o seu genial proprietário, cujo talento parece estar reservado para uma determinada pessoa.
É ele que prepara a salada com as suas próprias mãos para um certo convidado especial. Mas quem será este convidado especial, e porquê? E que estará ele a dizer
àquela senhora de brincos? Será ela uma amiga ou apenas uma cliente? Assim que me sento à mesa sinto-me invadido por todo um sentimento de confusão, de incerteza,
de especulação. As imagens não param de se formar. A minha fertilidade embaraça-me. Se assim o desejasse, poderia descrever todas as cadeiras, mesas e comensais
que aqui se encontram. Na minha mente não param de surgir palavras que se adaptam a tudo. O simples acto de falar ao criado a respeito do vinho é já provocar uma
explosão. O foguete não pára de subir. Os grãos dourados que dele se desprendem caem um a um no solo da minha imaginação, fertilizando. A natureza totalmente inesperada
da explosão – é aí que reside a maravilha do facto. Eu, misturado com um empregado italiano desconhecido – que sou eu? Não existe estabilidade neste mundo. Existirá
alguém capaz de descobrir o significado de todas as coisas? Quem será capaz de prever o voo de uma palavra? Trata-se de um balão que voa por sobre as copas das árvores.
É inútil falar sobre conhecimento. Nada mais existe para além de experiências e aventuras. Estamos permanentemente a misturarmo-nos com quantidades desconhecidas.
O que virá a seguir? Não sei. Mas, à medida que vou poisando o copo, lembro-me. Estou noivo e vou-me casar. Esta noite vou jantar com os amigos. Sou Bernard, eu
mesmo.
– Faltam cinco minutos para as oito – disse Neville. – Cheguei cedo. Ocupei o meu lugar à mesa dez minutos antes da hora prevista, pois só assim poderia saborear
todos os momentos de antecipação; ver a porta a abrir e dizer: Será o Percival? Não, não é o Percival. Sinto um prazer mórbido ao dizer: Não é o Percival. A porta
já se abriu e fechou cerca de vinte vezes, e a expectativa é cada vez maior. Estou no local onde ele acabará por chegar. Esta é a mesa onde se sentará. Aqui, e por
muito incrível que possa parecer, estará o seu corpo. Esta mesa, estas cadeiras, esta jarra de metal contendo três flores vermelhas, tudo isto está prestes a sofrer
uma transformação extraordinária. A própria sala, com as suas portas de vaivém, as mesas repletas de fruta e carnes frias, apresenta uma aparência irreal, desfocada,
própria de um local onde se espera vir a acontecer algo. As coisas estremecem como se ainda estivessem longe de possuir as características do ser. A brancura da
toalha como que resplandece. A hostilidade e a indiferença das outras pessoas que aqui jantam é opressiva. Entreolhamo-nos; vemos que não nos conhecemos e viramos
as costas. Tratam-se de olhares semelhantes a chicotadas. Sinto neles toda a crueldade e indiferença do mundo. Se ele não vier, serei incapaz de as suportar. Contudo,
e neste preciso momento, alguém o deve estar a ver. É provável que esteja dentro de um táxi; a passar por alguma loja. E a todo o instante ele parece fazer com que
a sala se encha de luz, desta intensidade do ser, obrigando as coisas a perder os seus usos normais – a lâmina desta faca transforma-se num raio de luz e deixa de
ser um objecto cortante. É a abolição do normal.
A porta abre-se, mas ainda não é ele. Trata-se do Louis, algo hesitante. Esta hesitação é uma estranha mistura de segurança e timidez. Ao entrar, olha de relance
para o espelho; passa a mão pelo cabelo; não está satisfeito com a sua aparência. Diz: “Sou um duque” – o último de uma raça antiga. É um ser amargo, desconfiado,
dominador, difícil (estou a compará-lo ao Percival). Ao mesmo tempo, e dado existir uma estranha alegria nos seus olhos, é um ser formidável. Acaba por me ver. Aí
vem ele.
– Ali está a Susan – disse Louis. – Ainda não nos viu.
Não está vestida para a ocasião, pois despreza a futilidade de Londres. Deixa-se estar à porta por alguns instantes, ofuscada pela luz de um candeeiro. Acaba
por se mover. Ao andar por entre as mesas e cadeiras, revela possuir os movimentos furtivos, se bem que seguros, de um animal selvagem. Parece possuir a capacidade
instintiva de abrir caminho por entre estas pequenas mesas sem tocar em nada nem em ninguém, sem prestar sequer atenção aos empregados, até chegar junto à nossa
mesa. Quando nos vê (a mim e a Neville) o seu rosto assume uma expressão de certeza alarmante, como se tivesse conseguido o que queria. Ser amado por ela seria o
mesmo que ser crucificado pelo bico afiado de uma ave, de ser pregado à porta do celeiro, e isto de uma vez por todas.
É agora a vez da Rhoda, que surge como que vinda de parte alguma, depois de ter entrado quando não estávamos a olhar. Por certo que seguiu uma rota tortuosa,
escondendo-se ora atrás de um criado ora atrás de um pilar, como se tivesse vontade de adiar o mais possível o momento do reconhecimento, como se quisesse certificar-se
de que poderia balançar a taça onde se encontram as suas pétalas por mais um momento.
Fazemo-la despertar. Torturamo-la. Teme-nos, despreza-nos, mas mesmo assim vem-se juntar a nós, pois, e apesar de toda a nossa crueldade, existe sempre um
nome, um rosto, que lança um brilho, que lhe ilumina o caminho e lhe dá a hipótese de voltar a sonhar.
– A porta abre-se, a porta não pára de se abrir – disse Neville –, mas ele continua a não aparecer.
– Lá está a Jinny – disse Susan. – Está mesmo junto à porta. Tudo parece ter parado. Os criados imobilizam-se. Os clientes que se encontram nas mesas junto
à porta olham. Dá a sensação de que concentra tudo. Em seu redor, mesas, portas, janelas, tectos, tudo se parece agrupar como que em raios concêntricos, semelhantes
aos que se formam em torno de uma estrela vista através de um vidro partido. É como se tivesse capacidade para pôr tudo em ordem. Acaba por nos ver e põe-se em movimento.
É então que os raios começam a flutuar na nossa direcção, trazendo-nos novas correntes de sensações. Mudamos. O Louis leva a mão à gravata. O Neville, que
revela sinais de quem sofre uma profunda agonia, endireita os talheres que estão à sua frente, isto não sem algum nervosismo. A Rhoda olha-a, surpreendida, como
se visse um incêndio alastrar num campo distante. E eu, muito embora tente pensar em erva e campos úmidos, no som da chuva a bater no telhado e nas rajadas de vento
que abanam a casa no Inverno, tentando assim proteger a alma contra ela, sinto-me cercada pela energia que dela se desprende, sinto as suas gargalhadas enrolarem-se
à minha volta com línguas de fogo a queimarem-me sem dó nem piedade o vestido gasto, as unhas cortadas rente, de tal forma que me vejo obrigada a escondê-las debaixo
da toalha.
– Ele não vem – disse Neville. – A porta não pára de se abrir e ele não chega. Quem lá vem é o Bernard. Como seria de esperar, ao tirar o casaco levanta os
braços de tal maneira, que qualquer um lhe pode ver os sovacos. E, ao contrário do que se passou com todos nós, vai andando sem precisar de abrir porta alguma, sem
sequer se aperceber de que entrou numa sala repleta de desconhecidos. Não olha para o espelho. Está despenteado, mas nem sequer se apercebe do facto. Não vê que
somos diferentes nem que é para esta mesa que se deve dirigir. Hesita durante breves instantes. Quem será aquela?, pergunta ele em voz baixa, pensando reconhecer
uma mulher embrulhada numa capa, daquelas com que se costuma ir à ópera. O certo é que ele pensa sempre que conhece toda a gente, quando a verdade é que conhece
ninguém (estou a compará-lo ao Percival). Contudo, ao nos reconhecer, esboça um aceno benevolente; inclina-se com tanta bondade, com tanto amor pela humanidade (ao
que se mistura um pouco de troça pela futilidade de amar a humanidade), que, se não fosse o Percival que transforma tudo isto em vapor, seria capaz de me juntar
aos outros e achar, tal como eles o fazem, que esta festa é nossa, que finalmente estamos todos juntos. Todavia, sem o Percival as coisas carecem de solidez. Somos
silhuetas, fantasmas ocos a pairar sem qualquer pano de fundo que nos sirva de suporte.
– A porta de vaivém não pára de se abrir – disse Rhoda.
Por ela vão entrando estranhos, indivíduos que nunca mais veremos, indivíduos que nos tocam de forma desagradável com a sua familiaridade e indiferença, bem
assim como com a ideia de que o mundo vai continuar mesmo sem a nossa presença. Somos incapazes de nos afundar, de esquecer os rostos que possuímos. Mesmo eu, que
nunca mudo de expressão (a Susan e a Jinny alteraram os rostos e os corpos quando entraram), sinto-me flutuar, sem possuir um porto onde ancorar, incompleta, incapaz
de construir uma câmara de vácuo, um muro, onde possa colocar estes corpos em movimento. Creio que tudo isto se deve ao Neville e à tristeza que dele emana.
Sinto-me abalada pela profunda desolação em que está mergulhado. Nada pode assentar. Nada pode ser fixado. De cada vez que a porta se abre ele olha fixamente
para a mesa, nem sequer se atreve a levantar os olhos, acaba por espreitar durante breves segundos, e diz: “Ele não vem!”. Porém, ei-lo que chega.
– Agora – disse Neville –, a minha árvore floresce. O meu coração eleva-se. Acabaram-se as opressões e os impedimentos. O reino do caos chegou ao fim. Foi
ele quem impôs a ordem. As facas voltaram a cortar.
– Lá está o Percival – disse Jinny. – Não se vestiu para a ocasião.
– Lá está o Percival – disse Bernard –, a ajeitar o cabelo.
Não se trata de um gesto de vaidade (nem sequer olha para o espelho), mas sim de algo para agradar ao deus da decência. É um indivíduo convencional; é um herói.
Os rapazinhos mais novos marchavam atrás dele no campo de jogos. Mas, e apesar de assoarem o nariz do mesmo modo que ele, não tinham qualquer sucesso, pois só ele
é o Percival. Agora, que está prestes a nos deixar, a partir para a Índia, todas estas pequenas coisas se juntam numa só. Estamos em presença de um herói. Oh, sim,
ninguém o pode negar, e, quando se senta junto à Susan (a quem ama profundamente) a ocasião torna-se perfeita. Nós, que antes nos entretínhamos a lutar uns contra
os outros, assumimos agora o ar sóbrio e confiante de soldados na presença do capitão. Nós, a quem a juventude separou (o mais velho ainda não fez vinte e cinco
anos), que, semelhantes a aves sedentas, cantamos a plenos pulmões, e, com o egoísmo próprio dos jovens, batemos na nossa própria carapaça com tanta força que quase
a chegamos a partir (estou noivo), ou, empoleirados no parapeito de uma qualquer janela solitária entoamos cânticos de amor e fama, coisa tão querida às avezinhas
jovens de penugem amarela, acabamos por nos aproximar; e, em cima dos poleiros que ocupamos neste restaurante onde cada um tem os seus interesses e somos distraídos
pelo desfile incessante dos copos e tentados por toda a espécie de coisas de cada vez que a porta se abre, é aqui sentados que sentimos o quanto nos amamos, acreditando
também que somos consistentes e possuímos capacidade para resistir ao tempo.
– Resta-nos agora sair da obscuridade da solidão – disse Louis.
– Resta-nos agora dizer, de forma directa e brutal, o que nos vai na alma – disse Neville. – Longe está o período de isolamento e preparação; os dias furtivos
da clandestinidade e dos segredos, das revelações inesperadas, dos momentos de terror e êxtase.
– A velha Mrs. Constable levantava a esponja e sentíamos o calor escorrer-nos pela pele – disse Bernard. – Sentíamo-nos envolvidos por estas novas roupas feitas
de carne.
– O rapaz das botas fez amor com a criada, no jardim – disse Susan –, por entre os alguidares de roupa lavada.
– O modo como o vento respirava lembrava o arfar de um tigre – disse Rhoda.
– Havia um homem na valeta, lívido, com o pescoço cortado – disse Neville. – E, sempre que subia os degraus, não conseguia olhar para a madeira com as suas
folhas prateadas.
– Sem que houvesse ninguém para a soprar, a folha não parava de se agitar – disse Jinny.
– No canto iluminado pelo sol – disse Louis –, as pétalas nadavam em profundezas de verde.
– Em Elvedon, os jardineiros não paravam de varrer, servindo-se para isso das suas enormes vassouras, e a mulher sentada à mesa não parava de escrever – disse
Bernard.
– Agora, sempre que nos encontramos – disse Louis –, pegamos no novelo em que o passado se transformou e tentamos desenrolá-lo.
– Foi então – disse Bernard –, que o táxi surgiu frente à porta, e, enterrando com força os bonés para assim escondermos aquelas lágrimas muito pouco viris,
acabamos por ser conduzidos por ruas onde até mesmo as criadas nos olhavam, e os nossos nomes escritos a branco nas malas proclamavam a todo o mundo que íamos para
a escola, transportando connosco o número permitido de meias e cuecas, onde as nossas mães haviam bordado as nossas iniciais. Tratou-se de uma segunda separação
do corpo da mãe.
– E havia também a Miss Lambert, já para não falarmos da Miss Cutting e da Miss Bard – disse Jinny. – Tratava-se de senhoras imponentes, de golas brancas;
pálidas, enigmáticas, com anéis de ametista colocados em dedos muito esguios, os quais percorriam as páginas dos livros de francês, geografia e aritmética; e haviam
ainda os mapas, os quadros de baeta verde, e as filas de sapatos na prateleira.
– As campainhas tocavam sempre a horas – disse Susan. – As raparigas não paravam de rir e de se acotovelar. As cadeiras produziam um barulho estranho quando
as arrastavam no chão forrado a oleado. Contudo, num dos sótãos podia ver-se um ponto azul e distante correspondente a um campo não contaminado pela corrupção daquela
existência irreal, regulamentada.
– Os véus não paravam de cair por sobre as nossas cabeças – disse Rhoda. – Pegávamos nas flores e com elas construíamos grinaldas.
– Mudamos, tornámo-nos irreconhecíveis – disse Louis. – Expostos a todas estas luzes diferentes, aquilo que possuíamos dentro de nós (pois somos todos diferentes)
veio aos poucos à superfície, em golfadas violentas, separadas por abismos vazios, tal como se um qualquer ácido tivesse caído de forma desigual numa determinada
superfície. Eu fui isto, o Neville aquilo, o mesmo se passando com o Bernard e a Rhoda.
– Foi então que as canoas passaram através dos ramos levemente tingidos de amarelo – disse Neville –, e o Bernard, avançando de forma descontraída por entre
os tufos verdes, contra casas de alicerces antiquíssimos, acabou por se deixar cair junto a mim. Num acesso de emoção, os ventos e os relâmpagos não podem ser mais
rápidos, peguei no meu poema, atirei-lho, e fechei a porta atrás de mim.
– No entanto, e pela parte que me tocava – disse Louis –, deixando-vos partir, sentei-me no escritório, e, arrancando as páginas ao calendário, anunciei a
todos os que ali iam que sexta, dia dez, ou terça-feira, dezoito, haviam amanhecido na cidade de Londres.
– Então – disse Jinny –, eu e a Rhoda, vestidas com os nossos vestidos mais bonitos e com algumas pedras preciosas a ornamentar os colares gelados que trazíamos
ao pescoço, fizemos vénias, apertámos as mãos, e, sem nunca deixar de sorrir, tirámos uma ou outra sanduíche de uma enorme travessa.
– Do outro lado do mundo – disse Rhoda –, o tigre saltou e a andorinha mergulhou as asas nos lagos escuros.
– Mas agora estamos de novo juntos – disse Bernard. – Acabamos por nos juntar, nesta determinada altura, neste preciso local. O que nos faz aqui estar é uma
emoção profunda e por todos partilhada. Será conveniente chamarmos-lhe amor? Deveremos dizer que sentimos amor pelo Percival, já que ele vai para a Índia?
Não, trata-se de um nome demasiado pequeno e específico. Não devemos deixar que os nossos sentimentos fiquem confinados a limites tão estreitos. Estamos todos
juntos (uns vindos do Norte, outros do Sul, a Susan da sua quinta, o Louis do escritório onde trabalha) para realizarmos algo que, muito embora não seja duradouro
– e, afinal, que é que o é? –, é visto ao mesmo tempo por muitos olhos. Há um cravo vermelho naquele vaso. Enquanto estávamos à espera, tratava-se de uma simples
flor. Agora, transformou-se em algo com sete possíveis ângulos de observação, muitas pétalas vermelhas, rubras, algo como folhas possuidoras de estrias prateadas
– uma flor completa à qual cada olho dá a sua contribuição.
– Depois dos fogos caprichosos e da horrível monotonia da juventude – disse Neville –, a luz acaba por cair em objectos reais. Somos facas e garfos. O mundo
está arrumado, o mesmo se passando connosco, e só por isso podemos falar.
– As nossas diferenças talvez sejam demasiado profundas para serem explicadas – disse Louis. – Mas talvez não seja má ideia tentá-lo. Alisei o cabelo quando
entrei, pois tentava tornar-me o mais parecido convosco quanto possível. Contudo, e dado não ser tão inteiro quanto vocês, trata-se de algo completamente impossível.
Já vivi milhares de vidas. Desenterro uma todos os dias – escavo-a. Descubro relíquias de mim mesmo na areia que foi pisada pelas mulheres há milhares de anos, quando
ouvia cânticos no Nilo e o animal encurralado batia as patas com força. Aquilo que têm à vossa frente, este homem, este Louis, é apenas o que resta de algo que já
foi magnífico. Já fui um príncipe árabe – reparem na graciosidade dos meus gestos. Já fui um grande poeta no tempo da rainha Isabel. Fui duque na corte de Luís XIV.
Sou muito vaidoso, muito confiante; sinto uma enorme vontade de fazer com que as mulheres suspirem por mim. Hoje, não almocei para que a Susan me considere cadavérico
e a Jinny me conceda a bênção extravagante da sua simpatia. Mas, muito embora admire a Susan e o Percival, odeio todos os outros, pois é para eles que faço disparates
como alisar o cabelo e tentar ocultar o sotaque.
Sou o macaquinho que faz muito barulho quando encontra uma noz; vocês são as mulheres desleixadas que transportam malas lustrosas carregadas de bolos bafientos;
para mais, sou também o tigre enjaulado, e vocês são os guardas munidos de ferros em brasa. Ou seja, sou mais feroz e forte que vocês, e, contudo, aquilo que emerge
à superfície depois de muitos séculos de não identidade será passado no maior dos horrores, não vão vocês rir-se de mim; esforçando-me por construir um anel de poemas
comparável ao aço, o qual levará as gaivotas às mulheres de dentes estragados, as torres das igrejas aos bonés que vejo passar durante a hora do almoço, quando encosto
o meu poeta preferido, será Lucrécio?, contra o galheteiro e o suporte da conta.
– Vocês nunca serão capazes de me odiar – disse Jinny. – Nunca serão capazes de me ver, mesmo que seja numa sala repleta de cadeiras douradas e embaixadores,
sem de imediato atravessarem o aposento em busca da minha simpatia. Ainda agora, e assim que cheguei, tudo ficou em silêncio. Os criados pararam, os comensais levantaram
os garfos e assim os mantiveram. Eu tinha ar de estar preparada para qualquer eventualidade. Quando me sentei, vocês ou levaram as mãos às gravatas ou as esconderam
debaixo da mesa. Porém, eu nada tenho a esconder. Estou preparada. Sempre que a porta se abre grito Mais!. Contudo, são os corpos a minha imaginação. Nada mais consigo
conceber para lá do círculo de luz provocado pelo meu próprio corpo. Este como que me precede, semelhante a uma lanterna descendo um carreiro escuro, fazendo com
que todas as coisas, umas a seguir às outras, penetrem numa espécie de anel de luz. Faço-vos entontecer; levo-vos a acreditar que isto é tudo.
– Quando apareceste à porta – disse Neville –, fizeste com que tudo parasse, exigiste ser admirada, e isso constituiu um grande impedimento à forma livre como
as coisas se devem relacionar. Apareceste à porta e obrigaste-nos a reparar em ti. Contudo, nenhum de vós me viu aproximar. Cheguei cedo; vim depressa e rapidamente
para aqui, para assim me poder sentar junto à pessoa que amo. A minha vida possui a enorme rapidez que falta às vossas. Sou como um cão de caça a seguir um determinado
odor. Caço desde o nascer ao pôr do Sol. Nada, nem a busca da perfeição, a fama ou o dinheiro, tem significado para mim. Possuirei grandes riquezas; serei famoso.
No entanto, dado não possuir a agilidade corporal e a coragem que, por norma, costumam acompanhar as qualidades acima mencionadas, nunca conseguirei o que quero.
O meu corpo não tem estrutura para suportar a rapidez com que penso. Falho antes de alcançar o que procuro e deixo-me cair, transformado em qualquer coisa sem forma,
pegajosa, talvez mesmo revoltante. Sempre que passo por uma qualquer crise, inspiro piedade, e não amor. É por isso que sofro de forma horrível. Mesmo assim, e ao
contrário do Louis, não transformo o que sinto num espectáculo. Sou demasiado realista para me dar ao luxo de participar numa farsa deste tipo. Vejo tudo, excepto
uma coisa, com a maior das clarezas. É por isso que me salvo. É isso que transforma o meu sofrimento em qualquer coisa de excitante e incessante. É isso que me orienta,
mesmo quando nada digo. E, dado que, pelo menos até um certo ponto, não tenho contornos definidos (a pessoa que sou muda constantemente, se bem que o mesmo não se
passe no plano dos desejos), nunca começo o dia a saber de antemão com quem vou jantar. É isso que faz com que nunca estagne; que me erga mesmo depois dos piores
desastres. Volto-me; mudo. Os seixos ressaltam ao embater na couraça que me reveste os músculos, o corpo. E assim acabarei por envelhecer.
– Se ao menos conseguisse acreditar – disse Rhoda –, que serei capaz de envelhecer em busca de algo e em constante metamorfose, então libertar-me-ia do medo
que sinto: nada existe para sempre. Um determinado momento não conduz forçosamente a outro. A porta abre-se e o tigre salta. Vocês não me viram entrar. Fiz questão
de passar por entre as cadeiras para evitar o horror do salto. Tenho medo de todos vocês.
Tenho medo do choque provocado pelas sensações que sobre mim se abatem, pois não posso lidar com elas do mesmo modo que vocês – sou incapaz de fazer com que
um momento se funda noutro. Para mim, são todos violentos, separados; e, se me deixar derrubar pelo choque do salto efectuado pelo momento, vocês cair-me-ão em cima,
acabando por me despedaçar. Não tenho qualquer objectivo em vista. Não sei correr de minuto a minuto, de hora a hora, misturando-os através de uma qualquer força
natural até constituírem aquela massa indivisível a que vocês chamam vida. Dado terem um objectivo em vista, será sentarem-se junto a alguém, será uma ideia, será
uma beleza? (não sei), os vossos dias e as vossas horas passam com a doçura dos ramos das árvores que se vão baloiçando ao vento, e com a suavidade do verde das
florestas, por onde os cães de caça vão perseguindo um determinado odor. Contudo e no que me diz respeito, não há um único cheiro, um único ser a quem possa seguir.
Para mais, não possuo rosto. Sou como a espuma que passa a rasar pela areia, ou como um raio de luar, que ora cai nesta lata vazia ora neste fio de alga, ou ainda
num osso ou numa embarcação semicarcomida. Sou transportada para o interior das grutas e comprimida contra as paredes dos corredores como se fosse papel, e tenho
de pressionar a mão, libertar a parede com toda a força, pois só assim me puxarei de volta. Mas, e dado que aquilo que mais quero é encontrar um refúgio, finjo ter
um objectivo em vista, e lá vou subindo as escadas, atrás da Jinny e da Susan. Vejo-as puxar as meias e faço o mesmo às minhas. Deixo-vos falar primeiro e depois
imito-vos. Vim até aqui, a este preciso lugar, não para te ver, a ti, a ti, ou a ti, mas para atear a chama que em mim existe na fogueira de todos os que vivem como
um todo, de forma indivisível, sem uma preocupação.
– Esta noite, quando aqui cheguei – disse Susan –, parei e examinei tudo com os olhos colados ao chão, como se fosse um animal. O cheiro das carpetes, da mobília
e dos perfumes enjoa-me. Gosto de passear sozinha pelos campos úmidos, ou de parar junto ao portão e ver o meu setter farejar em círculo como que a perguntar: “Onde
é que está a lebre?”. Gosto de estar junto de quem anda sempre com uma erva nas mãos, cospe para o lume, e, de chinelos, tal como o meu pai, se vai arrastando ao
longo dos caminhos. As únicas coisas que compreendo são gritos de amor, ódio, raiva e dor. Toda esta conversa é como despir uma velha cujo vestido parecia fazer
parte dela, mas agora, à medida que falamos, a criatura vai revelando uma pele avermelhada, as ancas encarquilhadas, e os peitos descaídos. Voltam a ser belos assim
que se calam. Nunca possuirei outra coisa para além de felicidade natural. Bastará isso para me contentar. Irei cansada para a cama. Serei como um campo cujas colheitas
vão aumentando; no Verão, o sol aquecer-me-a; no Inverno, a geada fará com que fique queimada. Contudo, o frio e o calor seguir-se-ão de forma natural, sem que eu
tenha qualquer coisa a ver com o facto. Os filhos dar-me-ão continuidade; as suas dores de dentes, os seus choros, as suas idas e vindas da escola serão como as
ondas do mar que se estende a meus pés. O seu movimento perpetuar-se-á para todo o sempre. As estações do ano farão com que me eleve mais de qualquer um de vós.
Quando morrer, possuirei muito mais do que a Jinny ou a Rhoda. Por outro lado, onde vocês são múltiplos e se unem às ideias e às gargalhadas dos outros, serei solene,
sombria, sem apresentar diferenças de coloração. A paixão da maternidade, bela e animal, acabará por me desgastar. Farei tudo, até mesmo as maiores baixezas, para
melhor orientar a sorte dos meus filhos. Odiarei todos os que descobrirem as suas falhas. Deixarei que construam um muro entre eu e vocês.
Para mais, a inveja já me começou a atormentar. Odeio a Jinny porque ela me faz ver que tenho as mãos vermelhas e as unhas roídas. Amo com tanta violência,
que me sinto morrer quando o objecto do meu amor revela através de uma simples frase que tem poderes para me escapar. Ele escapa-se e eu fico agarrada a um fio que
não pára de subir e descer por entre as folhas das copas das árvores. Não compreendo frases.
– Se ao nascer ainda não soubesse que a uma palavra se segue outra – disse Bernard –, talvez, quem sabe?, pudesse ter sido qualquer coisa. Dado que assim não
foi e encontro sequências por toda a parte, não suporto o peso da solidão.
Sempre que não vejo as palavras circularem à minha volta quais anéis de fumo, sinto-me na escuridão, nessas alturas, nada sou. Quando estou só, deixo-me cair
na letargia e digo para mim mesmo enquanto espevito as brasas, que a Mrs. Moffat acabará por chegar e varrer tudo. Quando o Louis está só, as coisas surgem-lhe perante
os olhos com uma intensidade incrível, o que lhe permite escrever palavras que talvez nos sobrevivam. A Rhoda ama a solidão. Receia-nos porque a fazemos perder a
noção de ser, que se manifesta com grande intensidade quando não está ninguém por perto, reparem como ela pega no garfo, a sua arma contra nós. No entanto, eu só
existo quando o canalizador, o comerciante de cavalos, ou seja lá quem for, diz qualquer coisa que me desperta para a vida. É então que o fumo que se eleva da minha
frase se torna maravilhoso, subindo e descendo, flutuando e envolvendo as lagostas vermelhas e os frutos amarelos, tornando-os maravilhosos. Todavia, reparem só
na falsidade desta frase, construída de evasivas e velhas mentiras. É por isso que o meu carácter é em grande parte constituído pelos estímulos que me são fornecidos
pelos outros, não me pertencendo do mesmo modo que a vossa personalidade vos pertence. Existe uma linha fatal, um qualquer veio de prata, irregular e sem rumo certo,
a enfraquecê-la. Era precisamente por isso que o Neville tanto se irritava comigo no tempo em que ainda andávamos na escola e eu o deixava. Lembro-me que costumava
acompanhar os rapazes gabarolas que usavam bonés e distintivos, e que se movimentavam em grandes bandos, estão aqui alguns esta noite, jantando juntos, impecavelmente
vestidos, à espera do momento mais indicado para seguirem para o salão de dança. Adorava-os. O certo é que eles me fazem viver, tanto quanto vocês o fazem. Também,
quando me separo de vós e o comboio parte, sei que sentem que não é este que se vai embora, mas sim eu, Bernard, que não me interesso, que não sinto, que não tenho
bilhete, que talvez o tenha perdido na mala. A Susan, os olhos presos no fio que aparece por entre as folhas das faias, grita: “Ele partiu! Escapou-me!”. Não existe
nada a que me possa agarrar. Estou continuamente a ser montado e desmontado. Pessoas diferentes fazem-me pronunciar palavras diferentes.
Assim, esta noite não queria estar sentado junto a apenas uma pessoa, mas sim a cinquenta. Todavia, sou o único de entre vós que se senta aqui como se estivesse
em casa, e isto sem se deixar cair na vulgaridade. Não sou nem grosseiro nem snob. Se ficar exposto à pressão da sociedade, o certo é que, com a habilidade com que
falo, são muitas as vezes em que consigo transpor conceitos difíceis para expressões quotidianas. Vejam como os meus brinquedos, construídos a partir do nada em
apenas alguns segundos, servem de entretenimento. Não sou ganancioso – quando morrer, de mim apenas restará um armário repleto de roupas velhas – e mostro-me praticamente
indiferente face às vaidades menores da vida, as quais tantas torturas causam ao Louis. Mesmo assim, tenho feito bastantes sacrifícios. Dado que em mim correm veios
de ferro, prata, e até mesmo de lama, sou incapaz de tomar as atitudes firmes comuns aos que não dependem de estímulos. Não consigo recusar seja o que for, de mostrar
o heroísmo do Louis e da Rhoda. Nunca serei capaz, mesmo a falar, de construir uma frase perfeita. Porém, a minha contribuição para o momento presente foi bem maior
que a vossa; entrarei em mais quartos (e em quartos muito diferentes entre si) do que qualquer um de vós. Mas, acabarei por ser esquecido devido a algo que vem de
fora e não de dentro; quando me calar serei lembrado como o eco de uma voz que costumava ornamentar a fruta com frases.
– Olhem – disse Rhoda. – Escutem. Reparem como a luz se vai tornando mais rica de segundo a segundo, e de como floresce e repousa em toda a parte; e os nossos
olhos, à medida que percorrem esta sala com todas as suas mesas, parecem afastar as cortinas de muitas cores, vermelhas, alaranjadas, e de outras tonalidades estranhas,
as quais dão a sensação de que não param de se cruzar, fazendo com que as coisas se vão fundindo umas nas outras.
– Sim – disse Jinny -, os nossos sentidos alargam-se.
Membranas, teias de nervos, tudo se espalhou, flutuando à nossa volta como se fossem filamentos, fazendo com que o ar quase possa ser tocado, o que nos torna
possível escutar toda uma série de sons distantes que antes eram impossíveis de ouvir.
– Estamos cercados pelo tumulto de Londres – disse Louis. – Automóveis, carrinhas, autocarros, passam e continuam a passar sem nos dar descanso. Tudo se resume
a uma enorme roda composta por um só som. Todos os sons separados, rodas, campainhas, os gritos dos bêbedos, dos folgazões, se misturam numa melodia circular, azul
metalizada. É então que se ouve uma sirene. A costa vai desaparecendo, as chaminés ficando mais pequenas; o barco abre caminho rumo ao mar alto.
– O Percival vai-se embora – disse Neville. – Nós continuamos aqui sentados, formando um círculo, iluminados, coloridos; todas as coisas, mãos, cortinas, facas
e garfos, os outros indivíduos que aqui jantam, se precipitam umas contra as outras, confundindo-se. Aqui, estamos emparedados. Contudo, a Índia fica lá fora.
– Estou a ver a Índia – disse Bernard. – Vejo uma praia enorme, sem dunas; vejo os caminhos tortuosos e enlameados que cercam os pagodes semi-arruinados; vejo
os edifícios dourados e com ameias, os quais apresentam um tal ar de fragilidade e decadência, que dão a sensação de que foram construídos apenas para fazerem parte
de uma qualquer exposição dedicada ao Oriente. Vejo dois bois a puxar uma carroça ao longo de uma estrada torrada pelo sol. A carroça não pára de baloiçar perigosamente
de um lado para o outro. Uma roda acaba por ficar presa na berma, e de pronto são muitos os nativos que, envergando apenas um pano em torno das ancas, a rodeiam,
falando com toda a excitação.
Contudo, nada fazem. O tempo parece não ter fim, a ambição parece ser inútil. Por sobre todos paira o sentimento de que o esforço humano de nada vale. Está-se
no reino dos odores azedos. Um homem de idade, sentado na valeta, continua a mascar bétel e a contemplar o umbigo. Mas, esperem, é o Percival quem se aproxima; vem
montado numa égua cheia de mordidelas de pulgas, e usa um capacete destinado a protegê-lo do sol. Através da aplicação dos métodos ocidentais, servindo-se da linguagem
violenta que lhe é natural, o carro de bois fica direito em menos de cinco minutos. O problema oriental foi resolvido. Ele prossegue o seu caminho; a multidão rodeia,
olhando-o como se estivesse na presença de um deus – coisa que ele de facto é.
– Desconhecido, com ou sem segredos, nada disso importa – disse Rhoda. – O certo é que ele é como uma pedra que se afunda num lago habitado por pequenos peixes.
Tal como estes, também nós, que antes tínhamos andado a deambular de um lado para o outro, nos aproximamos rapidamente quando o vemos chegar. Tal como os pequenos
peixes, conscientes da presença de uma enorme pedra, vamos nadando e ondulando com toda a alegria. Somos invadidos por uma sensação de conforto. Corre-nos ouro no
sangue. Um, dois; um, dois; o coração vai batendo com serenidade, com confiança, num qualquer transe de bem-estar, num qualquer êxtase de benevolência; e, reparem,
as partes mais distantes da terra, as sombras mais pálidas do horizonte, por exemplo, a Índia, elevam-se frente aos nossos olhos. O mundo, até agora uma superfície
enrugada, torna-se liso; as províncias mais remotas são trazidas à luz do dia; vemos estradas enlameadas, selvas confusas, enxames de homens, não esquecendo o abutre
que se alimenta da carne existente num qualquer corpo em putrefacção; tudo isto surge perante os nossos olhos; tudo isto pertence a uma qualquer província esplêndida
e orgulhosa, pois o Percival, montado numa égua mordida pelas pulgas, vai avançando por um carreiro solitário, rodeado de árvores desoladas, até acabar por se sentar
sozinho, a olhar para as montanhas gigantescas.
– É o Percival – disse Louis –, que sentado em silêncio no meio das ervas, vendo a brisa soprar as nuvens para de novo as juntar, é o Percival, dizia, quem
nos faz compreender o quanto são falsas estas tentativas de dizer sou isto, sou aquilo, as quais nos vão surgindo como se fossem pedaços separados de um corpo e
de uma alma. O medo fez-nos pôr qualquer coisa de parte. A vontade fez com que algo se alterasse. Tentamos acentuar as diferenças. O desejo de estarmos separados
fez com que sublinhássemos os nossos erros e tudo o que nos é próprio. Contudo, há uma corrente que nos cerca, um círculo azul-metalizado.
– Poderá ser ódio, poderá ser amor – disse Susan. – Trata-se de um curso de água violento e negro, que, e se olharmos bem para ele, nos faz ficar tontos. Estamos
numa espécie de parapeito, mas temos vertigens se baixarmos os olhos.
– Poderá ser amor – disse Jinny –, poderá ser ódio, mais ou menos como o que a Susan sente por mim por, certa vez, ter beijado o Louis no jardim, por, e devido
aos meus atributos físicos, a ter feito pensar quando entrei: Tenho as mãos vermelhas, acabando por as esconder. Todavia, o ódio que sentimos é quase impossível
de separar daquilo que chamamos amor.
– Mesmo assim – disse Neville –, estas águas tumultuosas sobre as quais construímos as nossas plataformas são mais estáveis que os gritos selvagens, fracos
e inconsequentes, que emitimos quando tentamos falar; quando argumentamos e pronunciamos frases tão falsas como estas: “Sou isto; sou aquilo!”. O discurso é falso.
Porém, continuo a comer. Aos poucos, vou perdendo consciência do que como. A comida começa a pesar-me. Estes deliciosos pedaços de pato assado, devidamente
acompanhados de vegetais, seguindo-se um atrás do outro numa estranha rotação de calor, de peso, de doce e de amargo, vão-me deslizando pela garganta até chegarem
ao estômago, onde acabam por estabilizar o meu corpo. Sinto-me calmo, grave, controlado. Tudo se tornou sólido. Como que por instinto, o meu paladar requer e antecipa
algo de doce e leve, algo de açucarado e evanescente. É então que bebo uma golada de vinho fresco, que parece cair que nem uma luva nas ramificações nervosas que
palpitam no céu da minha boca, fazendo-o deslizar (à medida que bebo) para uma caverna abobadada, verde, devido às folhas de videira que nela existem, vermelha devido
às uvas moscatel. Posso agora olhar a direito para o curso de água que corre a meus pés. Que nome lhe deveremos dar? O melhor é deixarmos falar a Rhoda, cujo rosto
vejo reflectido no espelho que se encontra no lado oposto; a Rhoda, a quem interrompi quando ela balançava pétalas numa taça castanha, perguntando-lhe se vira o
canivete que o Bernard roubara. Para ela, o amor não é um turbilhão. Não sente vertigens quando olha para baixo. Os seus olhos estão fixos muito para lá das nossas
cabeças, muito para lá da Índia.
– Sim, por entre os vossos ombros, por sobre as vossas cabeças, em direcção a uma paisagem – disse Rhoda –, para um local onde as muitas montanhas íngremes
parecem precipitar-se sobre nós como aves com as asas fechadas. Aí, por entre a erva curta e firme, podem ver-se arbustos de folhas escuras, e é recortando-se contra
este negrume que vejo uma forma branca, mas não de pedra, e que se vai movendo. Talvez esteja viva. Contudo, não és nem tu, nem tu, nem sequer tu; não é o Percival,
a Susan, a Jinny, o Neville ou o Louis, Forma-se um triângulo quando o braço branco repoisa no joelho; agora está direito, é uma coluna; agora uma fonte, caindo.
Não faz qualquer sinal, não acena, nem mesmo nos chega a ver. O mar ruge atrás de si. Está para lá do nosso alcance. No entanto, é para lá que me aventuro. É para
lá que me dirijo tentando preencher o vazio que sinto, tentando conseguir aumentar a duração das minhas noites e enchê-las cada vez mais de sonhos. E, até mesmo
agora, até mesmo aqui, consigo atingir o objecto que procuro e dizer-lhe: “Não procures mais. Tudo o resto não passa de testes e suposições. Nada mais há para além
disto.” Porém, estas peregrinações, estes momentos de ausência, começam sempre junto a vós, nesta mesa, a partir destas luzes, do Percival e da Susan, do aqui e
do agora. Estou sempre a ver o meu bosque por sobre as vossas cabeças, por entre os vossos ombros, ou através de uma janela onde acabei por me encostar a olhar para
a rua depois de ter atravessado o salão, decorria na altura uma festa.
– Mas, e os chinelos dele? – disse Neville. – E a sua voz ecoando pelas escadas? E o facto de o vermos quando ele não repara em ninguém? Fica-se à espera dele
e ele não vem. Está-se a fazer cada vez mais tarde. Esqueceu-se. Está com outra pessoa. É infiel, o seu amor não tem qualquer significado. Oh, e depois há esta agonia,
este desespero intolerável! É então que a porta se abre. Cá está ele.
– Brilhando, brilhando cada vez mais e mais, ordenei-lhe que viesse – disse Jinny. – E ele vem; atravessa a sala até chegar ao ponto onde estou sentada, com
o vestido ondulando à minha volta como um véu em torno de uma cadeira dourada.
As nossas mãos tocam-se, os nossos corpos sofrem uma explosão de luz. A cadeira, a chávena, a mesa, nada fica por iluminar. Tudo estremece, tudo se incendeia,
tudo arde de forma mais clara.
– Repara, Rhoda – disse Louis – transformaram-se em seres nocturnos, extasiados. Os seus olhos assemelham-se às asas das borboletas nocturnas, que se movem
tão rapidamente que parecem nem se mover.
– Ouvem-se trompas e trombetas – disse Rhoda. – As folhas abrem-se, os veados vão balindo por entre o matagal.
Ouvem-se tambores e dá-se início a uma dança, qualquer coisa de semelhante às danças e aos tambores de homens nus empunhando lanças.
– Semelhante às danças dos selvagens – disse Louis –, quando estes as executam em redor da fogueira. São selvagens; são impiedosos. Dançam em círculo e empunham
bexigas, chamas trepam-lhes pelos rostos pintados, cobrem-lhes as peles de leopardo e os membros sangrentos que foram arrancados aos animais quando estes ainda eram
vivos.
– As chamas vão-se elevando nos ares – disse Rhoda. – A procissão vai avançando e os indivíduos que nela se integram agitam folhas verdes e ramos floridos.
Das suas cornetas eleva-se um fumo azulado; a luz dos archotes faz com que as suas peles adquiram tons avermelhados e amarelos. Lançam violetas. Coroam os seres
amados com grinaldas e folhas de louro, ali, no anel de turfa onde confluem as colinas íngremes. E, à medida que o faz, Louis, ambos estamos conscientes da decadência,
ambos vaticinamos a ruína. A sombra inclina-se. Nós, os conspiradores, recuamos com vista a nos encontrarmos a uma qualquer urna fria, e reparamos no modo como as
chamas rubras flutuam em direcção ao abismo.
– A morte ligou-se para sempre às violetas – disse Louis. – A morte e ainda outra vez a morte.
– Com que orgulho estamos aqui sentados – disse Jinny –, nós que ainda nem fizemos vinte e cinco anos! Lá fora, as árvores cobrem-se de flores; lá fora, as
mulheres deslizam; lá fora, os carros descrevem curvas e contra-curvas. Emergindo depois de uma série de tentativas, depois da obscuridade e do deslumbramento da
juventude, olhamos para o que se encontra à nossa frente, prontos para o que há-de vir (a porta abre-se, a porta não pára de se abrir). Tudo é real; tudo é firme,
sem sombras ou ilusões. Há beleza no desenho das nossas sobrancelhas, das minhas e das da Susan. A nossa carne é firme e fresca. As diferenças que entre nós existem
são tão óbvias como as sombras provocadas pela luz do Sol ao incidir numa rocha. Amarelas e bem definidas, pairam junto a nós; a toalha é branca; temos as mãos semifechadas,
prontas a se contrair. Espera-nos um nunca mais acabar de dias e dias; dias de Inverno e de Verão; ainda mal tomámos posse do tesouro que nos pertence. A fruta acabou
de inchar por baixo das folhas. A sala está iluminada por um halo dourado, e eu digo-lhe: Vem.
– Ele tem as orelhas vermelhas – disse Louis –, e o cheiro a carne forma como que uma rede úmida que paira sobre nós, enquanto os empregados de escritório
da cidade tomam as refeições ao balcão.
– Será por termos a eternidade pela frente – disse Neville –, que perguntamos o que devemos fazer? Deveremos descer Bond Street, a olhar para aqui e para ali,
acabando por comprar uma caneta de tinta-permanente só porque esta é verde, ou limitando-nos a perguntar o preço do anel com a pedra azul?
Ou deveremos antes ir para casa, ver os carvões tornarem-se rubros? Deveremos antes estender as mãos para os livros e ler esta ou aquela passagem? Deveremos
explodir em gargalhadas sem qualquer razão aparente? Deveremos deambular por prados floridos e fazer coroas de margaridas? Deveremos descobrir quando parte o próximo
comboio para as Hébridas e reservar um compartimento? Temos tudo isso pela frente.
– Vocês têm-no – disse Bernard –, mas ontem esbarrei contra uma coluna. Fiquei noivo.
– O aspecto destes pedacinhos de açúcar que estão junto aos nossos pratos – disse Susan –, é tão estranho! O mesmo se passa com as cascas manchadas das pêras
e os aros dos espelhos. Nunca antes vira nada disto. Está tudo pronto; está tudo decidido. O Bernard está noivo. Aconteceu algo irrevogável.
As águas reflectem agora um círculo; foi-nos imposta uma corrente. Nunca mais voltaremos a flutuar em liberdade.
– Por apenas um momento – disse Louis. – Antes de a cadeia se partir, antes do regresso da desordem, vê-nos fixos, vê-nos colocados, vê-nos dispostos em círculo.
Porém, este acabou agora mesmo de se quebrar. A corrente voltou a correr. Movendo-nos ainda mais depressa que antes. Agora, as paixões que antes descansavam
junto às algas escuras vêm à superfície, alarmando-nos com o barulho provocado pelo rebentar das suas ondas. Dor e ciúme, inveja e desejo, e também algo ainda mais
profundo, mais forte e mais subterrâneo que o amor. Fala a voz da acção. Escuta, Rhoda (pois, com as mãos na urna fria, somos como conspiradores). Escuta os sons
rápidos, casuais, excitantes, da voz da acção, dos perdigueiros farejando um carreiro. Falam agora sem sequer se darem ao trabalho de completar as frases. Utilizam
uma linguagem semelhante à dos amantes. São possuídos por uma qualquer fera imperiosa. Têm os nervos à flor da pele. Os seus corações cavalgam com violência. A Susan
vai amarrotando o lenço. Os olhos da Jinny dançam como que alimentados pelo fogo.
– Eles estão imunes ao toque dos dedos e à indiscrição dos olhares – disse Rhoda. – Reparem no à-vontade com que se viram e olham; nas suas poses de energia
e orgulho! Quanta vida brilha no olhar da Jinny; quando procura insectos por entre as raízes, a expressão dos olhos da Susan é inteira! Os seus cabelos são brilhantes.
Os seus olhos queimam, semelhantes aos dos animais que se embrenham entre as folhas farejando a presa. O círculo foi destruído. Somos atirados para um lado qualquer.
– Mas – disse Bernard –, este êxtase egotista não demora muito a terminar. O momento voraz da identidade não tarda a chegar ao fim, e o apetite que antes sentíamos
pela felicidade, por uma felicidade sem fim, é engolido com sofreguidão. A pedra afunda-se; o momento já passou. Em meu redor, estende-se uma vasta margem de indiferença.
Abrem-se agora mil olhares curiosos frente a mim. Qualquer um tem agora liberdade para matar o Bernard, que está noivo e vai casar, isto desde que deixe intacta
esta margem de território desconhecido, esta floresta de um mundo por desbravar. Por que razão, pergunto (murmurando discretamente), estarão aquelas mulheres ali
a jantar sozinhas? Quem serão? E o que as terá trazido nesta noite a este local? A avaliar pelo modo nervoso com que leva a mão à nuca de vez em quando, o jovem
que está sentado naquele canto vem do campo. Tem um ar suplicante, e está tão desejoso de responder de forma conveniente à amabilidade do amigo do pai (que lhe serve
de anfitrião), que mal consegue tirar prazer daquilo que às onze e meia da manhã seguinte lhe dará a maior das satisfações. Já é a terceira vez que vejo aquela senhora
empoar o nariz no decorrer de uma conversa absorvente, talvez que a respeito do amor, talvez que a respeito da infelicidade que se abateu sobre a sua melhor amiga.
É então que se lembra, “Ah, não me posso esquecer do nariz!”. Dito isto, pega na borla de pó-de-arroz e com ela dissolve todos os sentimentos mais calorosos do coração
humano. Contudo, continua por solucionar o problema do homem solitário e do seu olho de vidro, bem assim como o da mulher de idade que bebe champanhe sem que ninguém
a acompanhe. Quem e o quê serão estas pessoas desconhecidas?, pergunto. Poderia construir dúzias de histórias a respeito do que ambos disseram, posso ver dúzias
de imagens. No entanto, o que são as minhas histórias? Brinquedos com que me entretenho, bolas de sabão que sopro, um anel passando através de outro. Para mais,
às vezes começo a duvidar da sua existência. O que é a minha história? O que é a história da Rhoda? E a do Neville? É certo que existem factos, como por exemplo:
O jovem de fato cinzento, indivíduo bem-parecido e cuja reserva contrastava de forma estranha com a loucura dos outros, sacudiu as migalhas do colete, e, com um
gesto simultaneamente autoritário e benevolente, fez sinal ao criado, que de imediato se voltou, regressando instantes mais tarde com a conta dobrada de forma discreta
em cima de uma bandeja. Tudo isto é verdade; tudo isto constitui um facto, mas para além dele só existem conjecturas e escuridão.
– Mais uma vez – disse Louis –, agora que estamos prestes a nos separar (já pagámos a conta), o círculo que nos corre pelas veias volta a se formar, mesmo
depois de ter sido quebrado tantas vezes e de forma tão abrupta. Algo se conseguiu. Sim, quando nos levantamos, um pouco nervosos, rezamos uma espécie de oração
que transmite este sentimento comum, Não se mexam, não deixem que a porta de vaivém destrua aquilo que construímos e se concentra aqui, entre estas luzes, estas
cascas, estes montes de côdeas de pão e de gente a passar. Não se mexam, não se vão embora. Deixem-se ficar para sempre.
– Vamos mantê-lo assim por um momento – disse Jinny –, amor, ódio, seja qual for o nome por que o chamemos, a este globo cujas paredes só existem devido ao
Percival, à juventude e à beleza, e também a algo tão profundamente interiorizado em nós, que é provável que nunca se venha a conseguir um momento igual a este.
– Estão aqui representadas as florestas e os países distantes que existem do outro lado do mundo – disse Rhoda. – Mares e selvas; os uivos dos chacais e o
luar caindo num qualquer pico sobre o qual a águia paira.
– Estão aqui representadas a felicidade e a paz das coisas comuns – disse Neville. – Uma mesa, uma cadeira, um livro com uma faca de papel enfiada entre as
páginas. A pétala a cair da rosa e a luz brilhando à nossa volta, quer quando estamos em silêncio quer quando dizemos uma qualquer trivialidade.
– Estão aqui contidos os dias da semana – disse Susan. – Segunda, terça, quarta; os cavalos a subir os campos e o seu posterior regresso; as gralhas voando
para cima e para baixo, envolvendo os ulmeiros na sua rede, e isto quer em Abril quer em Novembro.
– Estão aqui contidos todos os momentos que hão-de vir – disse Bernard. – Trata-se da última gota, e também da mais brilhante, que deixamos cair no momento
maravilhoso criado em nós pelo Percival.
Que virá a seguir?, pergunto, sacudindo as migalhas do colete. O que me espera lá fora? Provámos, pelo simples facto de termos estado aqui sentados, a comer
e a falar, que podemos trazer algo de novo à arca dos tesouros. Não somos obrigados a vergar as costas e a apanhar todas as chicotadas que nos quiserem dar. Também
não somos carneiros, prontos a seguir um mestre. Somos criadores. Construímos algo que se juntará aos inúmeros feitos do passado. Também nós, à medida que pomos
os chapéus e abrimos a porta, saímos de encontro a um mundo que a nossa força pode subjugar, fazendo-nos pertencer àquela estrada iluminada e eterna, e não ao caos.
Agora, enquanto eles chamam o táxi, talvez não seja má ideia dares uma olhadela ao que vais perder, Percival. A estrada é dura e polida devido ao passar de
muitas rodas. O dossel amarelo da enorme energia que emanamos paira por sobre as nossas cabeças como um tecido a arder. Essa luz é provocada por toda a espécie de
teatros, salões de música e candeeiros acesos nas habitações.
– Nuvens pontiagudas – disse Rhoda –, viajamos por um céu escuro, semelhante a ossos de baleia polidos.
– É agora que começa a agonia; é agora que o terror me agarra com as suas garras – disse Neville. – É agora que o táxi chega; é agora que o Percival parte.
Que podemos nós fazer para o manter junto a nós? Como encurtar a distância que nos separa? Como atiçar este fogo de forma a fazê-lo arder para sempre? Como registrar
para todo o sempre que nós, os que aqui se encontram nesta rua iluminada, amámos o Percival? Ele já nos abandonou.
O Sol atingira o ponto mais alto. Deixara de se mostrar semi-oculto e semipressentido através de insinuações subtis e brilhos, tal como se fosse uma jovem
repousando num manto verde-marinho, a fronte enfeitada de jóias semelhantes a gotas de água, das quais, e vistas sob determinados ângulos, se elevam luzes opalinas
que faiscam no ar como se de flancos de golfinhos a saltar ou lâminas cortantes se tratasse. Era agora impossível negar o ardor intenso do sol. Os seus raios batiam
na areia dura, e as rochas transformavam-se em fornos rubros; nem os mais pequenos charcos lhes escapavam, o mesmo se passando com os peixes minúsculos que neles
se ocultavam por entre as algas. Nada do que fora deixado na areia lhes conseguia fugir. A roda enferrujada, o osso branco, ou até mesmo a bota sem atacadores, negra
como uma barra de ferro. Conferiam a todas as coisas a medida exacta de cor; os incontáveis brilhos característicos das dunas, o verde lustroso das ervas selvagens;
ou então deixavam-se cair na vastidão do deserto, aqui enrugado pelo vento, ali varrido para dentro de dólmens abandonados, acolá manchado pelo verde-escuro das
árvores típicas da selva. Iluminavam as cúpulas douradas das mesquitas, as frágeis casas cor-de-rosa e brancas características do Sul, e as mulheres de peitos grandes
e cabelos brancos que se ajoelhavam junto ao rio, batendo as roupas enrugadas contra as pedras. O olhar impávido do Sol abarcava os navios a vapor que vogavam devagar
pelas águas do mar, e, atravessando a cobertura construída pelos toldos amarelos, batia nos passageiros que dormitavam ou passeavam no convés, os quais se viam obrigados
a proteger os olhos com a mão, à medida que, dia após dia, comprimido nos seus flancos oleados, o navio os continuava a transportar de forma monótona através das
águas.
O sol batia nos cumes apinhados das encostas do sul, reflectindo-se nos leitos rochosos e profundos dos rios, sobretudo nos locais onde a água se apertara
contra os pilares esguios das pontes de tal forma que as lavadeiras ajoelhadas nas pedras escaldantes mal tinham espaço para umedecer as roupas e onde as mulas escanzeladas
abriam caminho por entre pedras cinzentas, transportando alforjes por sobre o dorso estreito. Ao meio-dia, o calor do sol tornava cinzentas as montanhas, tal como
se tivessem sido desnudadas e queimadas durante uma qualquer explosão, enquanto, mais a norte, nos países mais enevoados e chuvosos as colinas adquiriam a suavidade
de uma laje e uma luz própria, como se uma sentinela, oculta nas profundezas fosse caminhando pelas diversas câmaras transportando um lampião verde. O Sol atingia
os campos ingleses escoando-se através de átomos de ar cinzento-azulados, iluminando pântanos e charcos, uma gaivota branca pousada num mastro, o lento pairar das
sombras por sobre os bosques e os campos de milho novo e feno ondulante.
Incidia na parede do pomar, e os grãos de todos os tijolos pareciam iluminados por uma luz prateada, rubra, mas que, e ao mesmo tempo dava a sensação de ser
suave ao toque, como se o simples facto de ser tocada fizesse com que se derretesse em grãos de poeira. As groselhas apoiavam-se ao muro, provocando cascatas de
um vermelho lustroso; as ameixas rompiam por entre as folhas, e todas as tonalidades de erva se uniam numa torrente fluida de verde. A sombra das águas afundava-se
num ponto escuro junto às raízes. A luz que caía em cascatas dissolvia a vegetação separada, transformando-a numa única mancha verde.
As aves entoavam com fervor melodias destinadas apenas a um emissário, depois do que paravam. Emitindo toda a espécie de ruídos abafados, transportavam pequenas
palhas e raminhos, juntando-os nos escuros nós situados nos ramos mais altos das árvores. Douradas e purpúreas, empoleiravam-se nos ramos existentes no jardim, onde
cones de laburno e carmim albergavam manchas douradas e lilases, pois que agora, ao meio-dia o jardim não podia estar mais florido, e até os túneis por baixo das
plantas apresentavam tons de verde, vermelho e amarelo-torrado, consoante o sol se escoava através de pétalas encarnadas e amarelas, ou tivesse dificuldade em atravessar
um qualquer caule mais grosso.
O sol incidia directamente na casa, fazendo luzir as paredes brancas situadas entre as janelas escuras. As vidraças, unidas com os ramos verdes numa trama
quase que inseparável, construíam círculos de uma escuridão impenetrável. Triângulos de luz possuidores de contornos bem definidos poisavam nos parapeitos das janelas,
revelando o conteúdo das diversas salas: pratos enfeitados de anéis azuis, chávenas com pegas curvas, a forma de uma qualquer tigela de grandes dimensões, o padrão
axadrezado do tapete, e todos os recantos e paredes forrados com papeleiras e estantes. Para lá deste conglomerado situava-se uma zona de sombras, na qual talvez
se pudesse descobrir uma qualquer outra forma, ou nada mais existisse para além de abismos ainda mais profundos de escuridão.
As ondas quebravam-se, espalhando as águas com suavidade ao longo da praia. Uma a seguir à outra, enrolavam-se e caíam; devido à energia com que o faziam,
as gotas eram obrigadas a recuar. As ondas apresentavam uma coloração azul profunda excepto no que respeitava a um ponto luminoso em forma de diamante situado na
crista, que se encrespava de forma semelhante à que acompanha os movimentos dos músculos dos cavalos. As ondas quebravam; recuavam e voltavam a quebrar, emitindo
um som semelhante ao que é provocado pelo bater das patas de um animal de grande porte.
– Morreu – disse Neville. – Caiu. O cavalo tropeçou.
Foi cuspido. As velas do mundo giravam com violência e atingiram-me em cheio na cabeça. Tudo terminou. Apagaram-se as luzes do mundo. Aquela é a árvore através
da qual não passo.
Oh, se eu pudesse rasgar este telegrama – devolver a luz ao mundo – dizer que isto não aconteceu! Mas para quê bater com a cabeça nas paredes? Trata-se da
verdade. Trata-se de um facto. O cavalo tropeçou; ele caiu. As árvores brilhantes e a vedação branca estilhaçaram-se em mil pedaços. Toldou-se-lhe o olhar; sentiu
um tambor ressoar junto aos seus ouvidos. Só então se deu a explosão; o mundo desabou; faltou-lhe o ar. Morreu ao chegar ao solo.
Celeiros e dias estivais passados no campo, salas onde nos sentamos – tudo isso pertence agora a um mundo irreal que já não existe mais. Deixei de ter passado.
Os outros aproximaram-se a correr. Levaram-no para um qualquer pavilhão; tratava-se de homens com botas de montar e chapéus coloniais. Morreu entre desconhecidos.
Era com frequência que a solidão e o silêncio o rodeavam. E depois, ao voltar, eu dizia sempre “Olhem quem lá vem!”.
As mulheres andam como se na rua não existisse um abismo, nenhuma árvore de folhas rijas através da qual é impossível passar. Não há dúvida de que merecemos
ser soterrados. Somos terrivelmente abjectos, avançando de olhos fechados. Mas por que razão me deverei submeter? Para quê tentar erguer o pé e subir as escadas?
É aqui que me encontro; aqui, a segurar o telegrama. O passado (os dias estivais e as salas onde nos sentávamos) vão desaparecendo como se fossem papéis queimados
contendo olhos vermelhos.
Para quê marcar encontros e retomar velhas amizades? Para quê falar, comer, e combinar coisas com outras pessoas? Estarei sempre só a partir de agora. Ninguém
mais me conhecerá. Tenho três cartas. “Vou jogar quoits com um coronel, por isso fico por aqui.” É assim que ele termina a nossa amizade, abrindo caminho por entre
a multidão ao mesmo tempo que se despede com um aceno. Esta farsa não merece que a voltemos a celebrar em termos formais. Contudo, se alguém tivesse dito “Espera”,
talvez ele tivesse apertado melhor a correia – talvez vivesse por mais cinquenta anos e acabasse por arranjar lugar na corte, comandando tropas e denunciando tiranias
monstruosas, tudo para acabar por regressar para junto de nós.
Digo agora que existe um sorriso, uma evasiva. Existe algo que ri de forma escarninha nas nossas costas. Aquele rapaz quase que caía ao subir para o autocarro.
O Percival caiu; morreu; está enterrado; e eu vejo as pessoas passarem; agarrar-se com força aos varões dos autocarros, determinadas a salvar a vida.
Não levantarei o pé para subir a escada. Vou-me deixar ficar um pouco mais debaixo desta árvore insaciável, a sós com o homem do pescoço cortado, enquanto
no andar de baixo a cozinheira se ocupa do fogão. Não subirei a escada. Estamos condenados, todos nós. As mulheres vão passando a correr, carregadas com os sacos
das compras. As pessoas não param de correr. Porém, vocês não me vão destruir. Durante este instante, este breve instante, estamos juntos. Aperto-vos contra mim.
Vem, dor, alimenta-te em mim. Enterra as tuas presas na minha carne. Desfaz-me em pedaços. Soluço, soluço.
– Assim é a incompreensível combinação das coisas – disse Bernard –, assim é a complexidade das coisas. O certo é que, enquanto vou descendo as escadas, não
sei distinguir a dor da alegria. O meu filho nasceu; o Percival está morto. Vou-me apoiando aos pilares; estou rodeado por emoções fortes; todavia, como distinguir
a tristeza da alegria? Faço esta pergunta a mim mesmo e não encontro qualquer resposta. Sei apenas que preciso de silêncio, de estar só e de sair daqui, e de passar
uma hora a meditar sobre o que aconteceu ao meu mundo, que tipo de morte nele ocorreu.
É então este o mundo que o Percival nunca mais verá.
Deixa-me olhá-lo. O carniceiro entrega carne na porta ao lado; dois velhotes arrastam-se pela calçada; os pardais levantam voo.
Há ali uma máquina a funcionar; sinto o seu ritmo, e dado ele já não a ver, encaro-a como algo de que já não faço parte. (A estas horas, o seu corpo pálido
e amortalhado repousa numa qualquer sala.) Chegou agora a minha oportunidade de descobrir o que é de facto importante, e para tal devo ter muito cuidado e não dizer
mentiras. O que sentia a seu respeito resume-se a isto: ele ocupava o lugar central. Já não vou mais a esse ponto.
O lugar está vazio.
Oh, sim, posso garantir-vos, homens de chapéus de feltro e mulheres transportando cestos – perderam algo que vos seria de grande valor. Perderam um chefe que
não teriam relutância em seguir; e uma de vós perdeu a felicidade e os filhos.
Aquele que vos daria tudo isto está agora morto. Está em cima de uma maca, enrolado em ligaduras, num qualquer hospital indiano, isto enquanto os nativos,
sentados no chão, agitam aqueles leques – esqueci-me de como se chamam. Contudo, “isto é importante; Vocês não sabem de nada”, disse, ao mesmo tempo que as pombas
poisavam nos telhados e o meu filho nascia. Lembro-me bastante bem do ar de desapego que o caracterizava enquanto rapaz. E lá acabo por dizer (os meus olhos vão-se
enchendo de lágrimas que secam quase no mesmo instante) que: “Mas isto é melhor do que aquilo que se poderia esperar”. É isto que digo, dirigindo-me ao abstracto,
vendo-me cego no fundo da avenida, no céu: “Será que não podes fazer mais nada?”. Acabamos por triunfar. “Fizeste tudo o que podias”, digo, falando com aquele rosto
vazio, brutal e sem qualquer préstimo (pois ele só tinha vinte e cinco anos e devia ter vivido até aos oitenta). Não me vou deitar no chão e chorar toda uma vida.
(Temos aqui uma boa entrada para a minha agenda; desprezo por todos aqueles que impõem mortes sem sentido.) Para mais, e isto é importante, eu devia ter sido capaz
de o ter colocado em situações banais e ridículas, pois só assim evitaria encará-lo como algo absurdo, montado num enorme cavalo. Devia ter sido capaz de dizer:
“Percival mas que nome, tão ridículo!”. Contudo, deixem-me que vos diga, homens e mulheres que se precipitam para a estação de metropolitano, que teriam de o respeitar.
Teriam de se alinhar atrás dele e segui-lo. É tão estranho abrir caminho ao longo de multidões que vêem a vida através de olhos vazios, escaldantes.
Todavia, registra-se já a existência de sinais, chamamentos, tentativas de me fazer voltar atrás. A curiosidade só pode ser eliminada durante breves instantes.
Não se pode viver fora da máquina durante mais de meia hora. Reparo que os corpos começam a parecer-se vulgares. Porém, há qualquer coisa por trás deles que não
é a mesma – a perspectiva. Por detrás daquela banca de jornais encontra-se o hospital; uma sala enorme onde homens de pele escura puxam cordas; é então que o enterram.
Mesmo assim, e dado que num dos jornais se fala no divórcio de uma actriz famosa, sou incapaz de perguntar: “Quem?”. Todavia, não consigo puxar da carteira; não
consigo comprar o jornal, ainda não consigo ser interrompido.
Pergunto-me de que modo poderemos comunicar se nunca mais te verei, se nunca mais poderei fixar o olhar na solidez que te caracterizava. Foste avançado através
do pátio, enlaçando-nos na teia que nos ligava. De qualquer dos modos, existes em alguma parte. Restam ainda vestígios de ti. O papel de juiz. Ou seja, se descobrir
em mim uma nova veia, por certo a submeterei à tua apreciação. Perguntarei: “Qual o teu veredicto?”. Continuarás a ser o árbitro. Mas por quanto tempo? As coisas
tornar-se-ão demasiado difíceis para serem explicadas de forma adequada: existirão coisas novas; o meu filho é uma delas. Atingi o zênite da minha experiência. A
ele se seguirá o declínio. Deixei de exclamar “Que sorte!” de um modo convicto. Acabou-se a exaltação, o voo das pombas cruzando os céus. Assisto ao regresso do
caos. Já não me espanto com os nomes escritos por cima das montras das lojas. Deixei de sentir. “Para quê apressar-me? Para quê apanhar o comboio?” As coisas regressam
como em sequência; despoletam-se mutuamente – a ordem do costume.
Todavia, continuo a me ressentir da ordem do costume. Ainda me recuso a aceitar de ânimo leve a sequência dos factos. Andarei; não vou alterar o ritmo da minha
mente só porque paro e olho; continuarei a andar. Vou subir estes degraus, entrar na galeria e submeter-me à influência de uma série de mentes iguais à minha, tudo
fora da sequência. Tenho pouco tempo para responder à pergunta; o meu poder enfraquece; torno-me apático. Cá estão os quadros. Cá estão as frias madonas entre as
suas colunas. Elas que façam parar a actividade incessante desta espécie de olho mental, elas que façam parar as imagens da cabeça envolta em ligaduras e dos homens
com as cordas, pois só assim poderei encontrar qualquer coisa que não se veja. Cá estão os jardins; e Vênus por entre as flores; cá estão os santos e as madonas
de ar triste. Felizmente, trata-se de imagens que a nada aludem; não apontam; não nos chamam a atenção com cotoveladas. É assim que expandem a consciência que dele
tenho, devolvendo-mo de maneira diferente. Recordo o quanto era belo. “Reparem, lá vem ele”, dizia.
As linhas e as cores quase me convencem de que posso ser um herói, eu, que construo frases com tanta facilidade. De imediato, me sinto seduzido, pronto para
amar o que vem a seguir, incapaz de cerrar os punhos, vacilante, construindo frases de acordo com as circunstâncias. Agora, devido à dor que sinto, descubro o que
ele era: o meu oposto. Dado ser verdadeiro por natureza, não via qualquer interesse em exagerar, deixando-se levar por uma percepção natural do que era próprio.
De facto, tratava-se de um grande mestre da arte de viver, pois só assim se explicava a sensação de que viveu durante muito tempo, tendo também espalhado uma grande
calma à sua volta. Talvez que a isto se possa chamar “indiferença”. Contudo, temos de dizer que nele também existia uma grande dose de compaixão. Uma criança a brincar
– um entardecer estival, as portas irão continuar a se abrir e fechar, e através delas verei sinais que me farão chorar. Trata-se de coisas que não podem ser partilhadas.
Daí a solidão e o desamparo que nos caracterizam. Viro-me para esse ponto da mente e encontro-o vazio. Sinto-me oprimido pelos meus próprios defeitos. Já não o tenho
para dele contrastar.
Reparem naquela madona de olhos rasos de água. É este o meu serviço fúnebre. Não temos cerimônias, apenas cânticos privados e nada de conclusões, apenas sensações
violentas, todas separadas umas das outras. Nada do que foi dito nos serve. Estamos sentados na sala italiana da National Gallery, e outra coisa não fazemos senão
recolher fragmentos. Duvido que Ticiano tenha alguma vez sentido este ratinho a roer. Os pintores levam uma vida de absorção metódica, adicionando pinceladas. Não
são como os poetas – bodes expiatórios; não estão acorrentados a rochas. Daí o silêncio, a sensação do sublime. Mesmo assim, aquele vermelho deve ter-lhe queimado
a garganta. Sem dúvida que se elevou nos ares, segurando uma enorme cornucópia, e acabou por ser tragado por ela. Porém, o silêncio pesa-me – a solicitação permanente
da vista. Trata-se de uma pressão intermitente e abafada. Pouco distingo e vejo-o de forma vaga. Carreguei na campainha mas ela não toca nem dela saem quaisquer
sons. Há um qualquer esplendor que me excita; o vermelho forte contrastando com o verde; o curso dos pilares; a luz alaranjada espreitando por detrás das folhas
escuras das oliveiras. Sinto-me percorrido por vagas de sensação, mas estas são desordenadas.
Contudo, algo se veio juntar à minha interpretação. Há em mim qualquer coisa de profundamente oculto. Por instantes, cheguei mesmo a pensar tê-la descoberto.
Mas o melhor será enterrá-la, enterrá-la; deixá-la crescer oculta nas profundezas do espírito, para que um dia venha a dar frutos. Talvez que no fim da vida, num
momento de revelação, a venha a agarrar, mas agora a ideia escapa-se-me por entre as mãos. Por cada ideia que consigo agarrar, são mil as que me escapam. Quebram-se;
caem sobre mim. “As linhas e as cores sobrevivem”, por isso...
Bocejo. Estou cansado de sensações. Estou cansado devido à tensão e ao tempo – vinte e cinco minutos, meia hora – que passei a sós, fora da máquina. Sinto-me
entorpecido. Como estilhaçar esta apatia que em nada honra o meu coração compassivo? Existe mais gente a sofrer – são muitos os que o fazem. O Neville deve estar
a sofrer. Amava o Percival. Porém, já não consigo suportar extremos; quero alguém com quem possa rir, com quem possa bocejar, com quem possa recordar o modo como
ele coçava a cabeça, alguém de quem ele gostasse e com quem se sentisse à vontade (não pode ser a Susan, pois ele amava-a, mas antes a Jinny). Para mais, poderei
penitenciar-me no seu quarto. Poderei perguntar-lhe: “Ele contou-te que certo dia me recusei a acompanhá-lo a Hampton Court?”. São estes os pensamentos que me farão
acordar sobressaltado a meio da noite – os crimes pelos quais nos vemos obrigados a fazer penitência todos os dias; que certa vez me recusei a ir com ele a Hampton
Court.
Mas agora quero voltar a sentir-me rodeado pela vida, por livros e pequenos ornamentos, e também pelos sons habituais feitos pelos mercados a apregoar as suas
mercadorias. Depois desta revelação, quero repousar a cabeça e fechar os olhos.
Assim, vou descer as escadas, apanhar o primeiro táxi que encontrar, e seguir para casa da Jinny.
– Há ali uma poça – disse Rhoda –, e não a consigo atravessar. Escuto o ruído da mó, que me chega vindo de um ponto a escassos centímetros da minha cabeça.
O vento ruge quando me bate no rosto. Todas as formas palpáveis da vida me abandonaram. Serei sugada pelo corredor eterno se não conseguir agarrar nada de sólido.
Sendo assim, em que poderei tocar. Que tijolo, que pedra, me possibilitará regressar ao meu corpo em segurança?
A sombra caiu e a luz incide de forma oblíqua nas coisas. A figura que antes estava envolta em beleza, não passa agora de um objecto arruinado. A figura que
antes se encontrava no bosque onde as colunas se juntavam não passa agora de destroços. Foi isso que lhe disse quando todos afirmaram amar a sua voz, os sapatos
velhos que usava, e os momentos em que se juntavam.
Preparo-me para descer Oxford Street e enfrentar um mundo iluminado pelos relâmpagos; verei os ramos dos carvalhos, até então floridos, quebrarem-se e adquirirem
uma coloração avermelhada. Irei até Oxford Street comprar meias para ir a uma festa. Farei as coisas do costume iluminada pelo brilho dos relâmpagos. Colherei violetas,
farei com elas um ramo e entregá-las-ei ao Percival. Serão a prenda que lhe darei. Reparem agora no que ele me ofereceu. Reparem na rua agora, depois de o Percival
ter morrido. Os alicerces das casas são de tal maneira fracos, que estas podem ser arrastadas pela mais ligeira brisa. Semelhantes a mastins sangrentos, os automóveis
passam por nós a correr e a rugir. Estou só num mundo hostil.
O rosto humano é hediondo. As coisas estão como eu gosto. Quero que a violência e a publicidade deslizem pelas ruas como pedras durante uma avalancha. Gosto
das chaminés das fábricas, das gruas e dos camiões. Gosto deste desfilar incessante de rostos deformados, indiferentes. Estou farta da beleza; estou farta da privacidade.
Cavalgo as ondas e afundar-me-ei sem que haja alguém para me salvar.
Pelo simples facto de ter morrido, o Percival deixou-me este presente, revelou-me este terror, fez-me passar esta humilhação – rostos e mais rostos, sucedendo-se
como pratos de sopa servidos por moços de cozinha; rudes, gananciosos, vulgares; os olhos postos nas montras das lojas; cobiçando, varrendo e destruindo tudo. Até
mesmo o nosso amor se tornou impuro depois de ter sentido o contacto dos seus dedos sujos.
Cá está a loja onde se vendem meias. Chego mesmo a acreditar que a beleza está outra vez em movimento. Ouço-a sussurrar ao longo dos corredores, através das
rendas, respirando por entre os cestos de fitas coloridas. Afinal, sempre existem nichos protectores gravados no coração da tempestade; refúgios silenciosos onde
nos podemos esconder da verdade ocultando-nos sob as asas da beleza. A dor fica como que suspensa quando vejo uma rapariga abrir uma gaveta no maior dos silêncios.
É então que fala. O som desperta-me. A sua voz transporta-me ao fundo do mar. Lá, por entre as algas, vejo a inveja, o ciúme, o ódio e o desprezo rastejarem como
caranguejos por sobre a areia. São estes os nossos companheiros. Pagarei a conta, só então partindo com o embrulho que me pertence.
Estou em Oxford Street. Aqui se concentram o ódio, a inveja, e também a indiferença, precipitando-se depois contra a fachada daquilo a que chamamos vida. O
certo é que acabam por nos acompanhar. Pensemos nos amigos com quem nos sentamos para jantar. Vem-me à ideia o Louis, a ler a página desportiva de um qualquer jornal
da tarde, cheio de medo de cair no ridículo; um snob. Se lhe submetêssemos, acabaria por mandar em nós. A melhor forma que encontrou para mitigar a dor provocada
pela morte do Percival é olhar fixamente para o galheteiro, para lá dos prédios, até nada mais ver para além do céu. Enquanto isso, até nada mais ver para além do
céu.
Enquanto isso, e de olhos vermelhos, o Bernard afunda-se numa poltrona. Acabará por puxar do bloco-notas: escreverá o seguinte na letra M: “Frases para serem
usadas por ocasião da morte de amigos”. A Jinny, atravessando a sala a dançar, irá sentar-se no braço da poltrona em que o Bernard se encontra e perguntar-lhe-á:
“Ele amava-me? Mais do que à Susan?” Esta última, noiva de um agricultor da sua terra, olhará para o telegrama durante alguns segundos sem deixar de segurar o prato
que tem numa das mãos; depois, com o tornozelo, fechará a porta do forno. O Neville, depois de ter chorado durante algum tempo frente à janela, acabará por ver através
das lágrimas e perguntar: “Quem está a passar lá fora?”
– “Qual o rapaz mais belo que por aí anda?”
É esta a homenagem que presto ao Percival; um ramo de violetas escuras, murchas.
Assim sendo, para onde ir? Talvez que para algum museu onde existam anéis dentro de redomas de vidro, armários e vestidos usados por rainhas. Ou deverei antes
ir para Hampton Court e ficar a olhar para as paredes vermelhas, os pátios e toda aquela massa compacta de teixos que projectam na erva e nas flores as suas sombras
negras e em forma de pirâmide?
Será lá que recuperarei o sentido de beleza, impondo ordem na minha alma atormentada? Ao fim e ao cabo, que se pode fazer quando se está só? Limitar-me-ia
a permanecer na erva vazia e a dizer: “As gralhas voam; alguém passa transportando uma mala; o jardineiro empurra um carrinho de mão”. Ficaria numa fila, sujeita
a sentir o cheiro a suor dos outros e a apanhá-lo como que por contágio. Seria comprimida contra as pessoas como se fosse um rolo de carne comprimido contra outros
rolos de carne.
Vejo um salão onde se paga para entrar e onde se pode escutar música por entre grupos de gente sonolenta que até aqui se deslocou nesta tarde quente, depois
do almoço. Comemos carne e pudim em quantidade suficiente para sobreviver durante uma semana sem tocar nos alimentos. É por isso que nos juntamos aos magotes e nos
recostamos contra o fundo de qualquer coisa que nos transporte. Com todo o decoro e dignidade – por baixo dos chapéus, temos madeixas bem penteadas de cabelo branco;
sapatos elegantes; malinhas de mão, rostos bem escanhoados; aqui e ali vêem-se alguns bigodes militares. Não foi permitido o mais pequeno grão de poeira no nosso
pano de primeira qualidade. Sentamo-nos a abrir os programas e a cumprimentar os amigos. Parecemos morsas empoleiradas nas rochas. Somos como corpos demasiado pesados
para seguir rumo ao mar. Imploramos que uma onda nos levante, mas somos demasiado pesados e entre nós e o mar existe uma vasta extensão de terreno coberta de seixos.
Lá nos vamos deixando ficar, enfartados de tanta comida e entorpecidos pelo calor. É então que, inchada mas envergando num traje de cetim escorregadio, uma sereia
verde resolve vir em nosso socorro. Morde os lábios, assume um ar de intensidade, insufla-se e eleva-se nos ares quase que no mesmo instante, tal como se tivesse
visto uma maçã, e o som por ela emitido, “Ah!” fosse uma flecha.
Sei de uma árvore que foi cortada ao meio por um machado; a seiva ainda está quente; a casca é percorrida por muitos sonos. “Ah!”, gritou uma mulher ao amante,
inclinando-se da janela, em Veneza. “Ah, ah!”, gritou, apenas para o voltar a fazer: “Ah!”. Brindou-nos com um grito, e apenas com um grito. Porém, qual o significado
de um grito? É então que chegam os homens-escaravelhos com os seus violinos; esperam; contam; acenam; baixam os arcos. Ouvem-se então murmúrios e gargalhadas. Lembramo-nos
então da dança das oliveiras e da grande quantidade de línguas faladas pelas suas folhas cinzentas sempre que uma qualquer sereia aparece na praia, a mordiscar um
qualquer raminho.
Semelhanças, semelhanças e ainda mais semelhanças – mas, afinal, que será que se oculta por trás da aparência das coisas? Agora, depois de o raio ter fulminado
a árvore, de o ramo florido se ter abatido no chão, e de o Percival (pelo simples facto de estar morto) me ter legado tudo isto, talvez agora tenha chegado o momento
de analisar a questão. Ali está um quadrado; ali está um rectângulo. Os músicos pegam no quadrado e colocam-no no rectângulo. Fazem-no com bastante precisão; ficamos
com a ideia de que não podiam ter feito melhor. Pouco é deixado de fora. A estrutura torna-se visível; registra-se agora o começo; não somos nem tantos nem tão mesquinhos;
construímos triângulos e colocamo-los em cima de quadrados. É este o nosso triunfo; é este o nosso consolo.
A doçura própria desta alegria escorre pelas paredes da minha mente, libertando a compreensão. “Não vagueis mais”, digo, “chegaste ao fim”. O rectângulo foi
colocado por cima do quadrado; a espiral está no topo. Fomos transportados por sobre os seixos até atingirmos o mar. Os músicos estão de volta. Contudo, desta vez
estão a fazer carretas. Deixaram de se mostrar tão janotas e joviais como antes. Acabarei por partir.
Esta tarde, farei uma peregrinação. Irei a Greenwich. Sem revelar qualquer espécie de medo, entrarei em eléctricos e autocarros. À medida que descemos Regent
Street e vou sendo atirada ora contra esta mulher ora contra este homem, o facto não me irrita nem me ultraja. Há um quadrado em cima de um rectângulo. Cá estão
as ruas pobres, onde é costume regatear nos mercados; onde todo o tipo de ferro, lingueta e parafuso é posto de lado, e onde as pessoas se movem pelos campos como
que em enxames, beliscando carne crua com os dedos grossos. A estrutura é bem visível. Acabamos por a transformar num lugar para habitar.
São então estas as flores que crescem nos campos de erva dura onde as vacas pastam, batidas pelo vento, deformadas sem frutos nem botões. É isto que trago,
é isto que arranquei pelas raízes do passeio de Oxford Street, tu, o meu pequeno ramo de violetas baratas. Agora, sentada no eléctrico, vejo mastros por entre as
chaminés; lá está o rio; lá estão os navios que partem para a Índia. Caminharei junto ao rio. Percorrerei este aterro onde um velhote lê o jornal que se encontra
por detrás de um vidro. Percorrerei este terraço e verei os navios curvando-se ao sabor da maré. Há uma mulher no convés e um cão a ladrar em seu redor. A saia e
o cabelo dela são batidos pelo vento; vão a caminho do mar; abandonam-nos; com eles levam este entardecer estival. Resignar-me-ei; acabarei por me perder. Acabarei
por soltar o meu tão reprimido desejo de ser gasta, consumida. Galoparemos juntos por sobre colinas desertas onde as andorinhas mergulham as asas nos lagos e os
pilares se mantêm direitos. E é contra a onda que bate com força na praia, é contra a onda que enche de espuma branca os cantos mais recônditos do mundo, que atiro
as minhas violetas, a minha oferta ao Percival.
O Sol deixara de estar no meio do céu. A luz incidia na terra de forma oblíqua. Aqui, era a vez de um cantinho de nuvem se incendiar, de pronto se transformando
numa ilha incandescente onde nenhum pé seria capaz de poisar. Aos poucos, todas as nuvens se deixavam apanhar pela luz, o que fazia com que as ondas se iluminassem
com setas enfeitadas de penas, as quais caíam de forma desordenada no azul. O calor queimava as folhas mais altas das árvores, que murmuravam em surdina ao compasso
da brisa suave. As aves estariam imóveis se, de vez em quando, não virassem as cabeças de um lado para o outro. Já não cantavam. Era como se o sol do meio-dia as
tivesse sufocado, impedindo o som de sair. A borboleta poisou numa cana por alguns instantes, apenas para se voltar a lançar nos ares. O zumbido que se ouvia à distância
dava a sensação de ser provocado pelo bater de asas que ora se elevavam ora se baixavam no horizonte. A água do rio mantinha os contornos de tal forma fixos, que
era como se estes fossem redomas de vidro. Contudo, o vidro oscilou e as canas soltaram-se. Arquejando, de cabeça baixa, o gado caminhava pelos campos, movendo-se
a custo. Pararam de cair gotas de água no balde que se encontrava perto da casa, tal como se estivesse cheio. Foi então que caíram uma, duas, três gotas, devagar,
sem pressas.
As janelas revelavam de forma arbitrária pontos luminosos, por exemplo, a esquina de um ramo, ao que se seguia um qualquer espaço de claridade pura. A cortina
apresentava uma tonalidade avermelhada, e, dentro do quarto, lâminas de luz incidiam nas cadeiras e nas mesas, abrindo fendas naquelas superfícies lacadas e polidas.
A jarra verde adquiria dimensões monstruosas. A luz, empurrando a escuridão à sua frente, derramava-se em profusão por todos os cantos e saliências, ao mesmo tempo
que, e de forma algo paradoxal, amontoava as trevas de forma anárquica.
As ondas formavam-se, curvavam-se e batiam com força na areia, fazendo voar pedras e seixos. Traziam as rochas e a espuma, elevando-se nos ares, espalhavam-se
pelas paredes de uma rocha que antes estivera seca, ao passo que, em terra, deixavam atrás de si um rasto composto por pequenas poças onde alguns peixes perdidos
abanavam as barbatanas sempre que uma nova onda se aproximava.
– Já assinei o meu nome por mais de vinte vezes – disse Louis. – Eu, de novo eu, e outra vez eu. Claro, firme e inequivocamente, lá está ele, o meu nome. Também
eu tenho contornos definidos e sou inequívoco. Todavia, guardo em mim um vasto legado constituído por todo o tipo de experiências.
Sou como um verme que abriu caminho à dentada através da madeira de um velho carvalho. Mesmo assim, esta manhã sou compacto, consegui reunir todos os pedacinhos.
O Sol brilha e o céu está limpo. Contudo, o meio-dia não é marcado nem por uma grande chuvada nem por uma qualquer claridade especial. Trata-se da hora em
que Miss Johnson me vem trazer a correspondência. Gravo o meu nome nestas páginas em branco. O sussurro das folhas, a água a escorrer pelas goteiras, abismos verdes
manchados de dálias ou zínias; eu, ora duque ora Platão, amigo de Sócrates; o vaguear de negros e asiáticos viajando para este, oeste, norte e sul; a procissão eterna:
as mulheres vão descendo o Strand transportando as suas carteiras, da mesma forma que antes carregavam as ânforas para o Nilo; todas as folhas dobradas em muitas
partes, as quais correspondem a toda a minha vida, condensam-se na assinatura que gravo no papel. Sou agora um adulto; enfrento o sol e a chuva de cabeça erguida.
Tenho de me deixar cair com a força de uma machadinha e cortar o carvalho com um único golpe, pois, se não o fizer, se me desviar e perder tempo a olhar de um lado
para o outro, cairei como se fosse um floco de neve derretendo-me.
Estou semi-apaixonado pela máquina de escrever e pelo telefone. Consegui fundir todas as vidas que já vivi através de letras, cabos e ordens emitidas de forma
delicada através do telefone, e que seguem para Paris, Berlim, Nova Iorque. Através da assiduidade e do poder de decisão que me caracterizam, consegui inserir estas
linhas no mapa que une as diferentes partes do mundo.
Adoro chegar ao escritório às dez em ponto; adoro o brilho avermelhado do mogno escuro; adoro a secretária e os seus contornos bem definidos, bem assim como
o modo como as gavetas deslizam em silêncio. Adoro o telefone com os lábios sempre prontos a receber os meus sussurros; o calendário de parede; a agenda. Há quem
chegue sempre à mesma hora: Mr. Prentice às quatro; Mr. Eyres às quatro e trinta.
Gosto que me peçam para ir ao gabinete de Mr. Burchard prestar-lhe contas dos nossos negócios na China. Espero vir a herdar um cadeirão e um tapete persa.
Pressiono o globo com os ombros; faço a escuridão girar à minha frente, levando o comboio às mais distantes partes do mundo, onde antes reinava o caos. Se assim
continuar, transformando o caos em ordem, acabarei por me encontrar nos mesmos locais onde já antes estiveram Chatham, Pitt, Burk, e Sir Robert Peel. É assim que
elimino certas nódoas e apago velhas ofensas: a mulher que me deu a bandeira que estava no cimo da árvore de Natal; a minha pronúncia; as pancadas e as outras torturas;
os fanfarrões; o meu pai, um banqueiro de Brisbane.
Li o meu poeta preferido à mesa do restaurante, e, sempre a mexer o café, escutei os que, nas outras mesas, faziam apostas, e vi as mulheres hesitar ao se
aproximarem do balcão. Afirmei que nada devia ser irrelevante, até mesmo um pedaço de papel castanho caído ao chão por acaso. Disse que as suas movimentações deviam
ter um fim em vista; que deviam ganhar duas libras semanais às ordens de um mestre ilustre; que, quando chega a noite, somos envolvidos por uma qualquer mão, um
qualquer manto. Quando tiver cicatrizado estas feridas e compreendido estas monstruosidades de modo a que não necessitem nem de pretextos nem de desculpas, que nos
obrigam a despender tantas energias, devolverei às ruas e aos restaurantes aquilo que perderam quando caíram nestes tempos difíceis e se quebraram contra estas praias
rochosas. Reunirei algumas palavras e forjarei à nossa volta um anel de aço.
Todavia, agora não tenho um momento a perder. Aqui, não existem intervalos, sombras formadas à custa de folhas tremulas, ou sala onde, na companhia de um amante,
nos possamos recolher do sol e gozar a brisa fresca da noite. Temos o peso do mundo aos ombros; é pelos nossos olhos que ele existe; se pestanejarmos ou olharmos
de esguelha ou nos virarmos para lembrar aquilo que Platão disse ou Napoleão conquistou, estamos a ser desonestos para com o mundo. É assim a vida. Mr. Prentice
às quatro; Mr. Eyres às quatro e trinta. Gosto de ouvir o elevador deslizar e ouvir o baque por ele provocado quando pára no meu piso, bem assim com os pés dos homens
responsáveis que percorrem os corredores. É assim, através da combinação das nossas forças, que enviamos navios repletos de lavatórios e ginásios para as partes
mais remotas do globo.
Temos aos ombros o peso do mundo. É assim a vida. Se continuar, herdarei uma cadeira e um tapete; uma quinta no Surrey cheia de estufas onde crescerão coníferas,
melões, ou arbustos de tal forma raros, que despertarei a inveja de todos os outros comerciantes.
Apesar de tudo, continuo a manter o meu sótão. É aí que abro o meu livrinho do costume; é aí que fico a ver a chuva brilhar nas teias, emitindo uma luz semelhante
à dos impermeáveis dos polícias; é aí que vejo os vidros partidos existentes nas casas dos pobres; uma qualquer prostituta mirando-se num espelho partido enquanto
retoca a maquilagem na esquina onde se encontra; é aí que a Rhoda às vezes aparece. É que eu e ela somos amantes.
O Percival morreu, (morreu no Egipto, morreu na Grécia, todas as mortes são apenas uma). A Susan tem filhos; o Neville sobe cada vez mais alto. A vida vai
seguindo o seu curso. As nuvens que pairam sobre as casas nunca são as mesmas. Faço isto, faço aquilo, apenas para voltar a fazer isto e depois aquilo. Unindo-nos
e separando-nos, assumimos formas diferentes, construímos diferentes padrões. No entanto, se não fixar estas impressões no placar, bem posso dizer adeus às muitas
personalidades que em mim se transformam numa só, existem aqui e agora, e não em manchas e listras, semelhantes a farrapos de neve nas montanhas distantes; pergunto
a Miss Johnson a sua opinião sobre este ou aquele filme, aceito a chávena de chá que me estava destinada e o biscoito de que mais gosto; se não fizer nada disto,
então serei como um floco de neve, acabando por derreter.
Porém, as seis horas acabam por chegar e saúdo o encarregado com uma espécie de continência, mostrando-me sempre demasiado efusivo, tal é o meu desejo de ser
aceite; e luto contra o vento, o casaco apertado até cima, os maxilares azuis devido ao frio e as lágrimas a correrem-me pelos olhos. Gostaria que uma qualquer dactilógrafa
se sentasse ao meu colo; acho que o meu prato favorito é bacon com fígado. Sinto-me em condições de ir vaguear para junto do rio, para aquelas ruas estreitas onde
os bares abundam e ao fundo se vêem as sombras dos navios e as mulheres a brigar. É aqui, digo, depois de ter recuperado a sanidade, que Mr. Prentice vem às quatro
e Mr. Eyres às quatro e trinta. O machado tem de acertar na madeira; o carvalho tem de ser atingido bem no centro. Sinto o peso do mundo nas costas. Aqui está a
caneta e o papel; coloco o nome nas folhas que se encontram no cesto de arame, eu, eu, e eu de novo.
– O Verão e o Inverno acabam sempre por chegar – disse Susan. – As estações vão passando. A pereira enche-se de frutos que acabam por cair. As folhas mortas
acumulam-se na valeta. Contudo, o vapor quase cobriu a janela. Estou sentada junto à lareira a ver a chaleira ferver. Vejo a pereira através dos sulcos existentes
no vapor que encheu a janela.
Dorme, dorme, cantarolo, quer seja Verão ou Inverno, Maio ou Novembro. Dorme, canto – eu, que não tenho ouvido para a música e as únicas melodias que ouço
são os sons rústicos dos cães a ladrar, das campainhas a tocar, e das rodas a ranger no cascalho. Canto a minha canção junto à lareira como se fosse uma concha velha
murmurando na praia. Dorme, dorme, digo, alertando com o tom da minha voz todos os que agitam as vasilhas do leite, disparam contra as gralhas, matam os coelhos,
ou, de uma forma ou de outra, trazem o choque da destruição até junto deste berço frágil, suportado por membros pouco fortes, coberto por uma cortina cor-de-rosa.
Perdi a indiferença, o olhar vazio, os olhos em forma de pêra que viam até às raízes. Deixei de ser Janeiro, Maio ou qualquer outra estação, estando como que
transformada numa teia muito fina que cobre o berço por completo, envolvendo os membros delicados do bebê com uma espécie de casulo constituído pelo meu próprio
sangue. Dorme, digo, e sinto nascer em mim uma violência sombria, arisca, capaz de me fazer derrubar com um só golpe qualquer intruso que entrasse nesta divisão
para acordar o que está a dormir.
Tal como a minha mãe, que morreu com um cancro, passo o dia a percorrer a casa com o avental posto e os chinelos calçados. Deixei de distinguir o Verão do
Inverno através das coisas tão simples como a erva que cobre a charneca ou a flor da urze. Sei-o apenas pelo vapor que se condensa na janela ou pelo gelo que a cobre.
Inclino-me quando ouço o canto da cotovia elevar-se nos ares; alimento o bebê. Eu, que costumava caminhar por entre as faias vendo as penas do gaio tornarem-se cada
vez mais azuis à medida que caíam, que me cruzava com os pastores e os vagabundos, que observava a mulher agachada junto a uma carroça caída na valeta, percorro
agora os quartos de espanador na mão. Dorme, digo, desejosa que o sono caia como um cobertor e cubra estes membros frágeis; exigindo à vida que recolha as garras
e prossiga viagem, transformando o corpo numa caverna, num abrigo aquecido onde o meu bebê possa dormir. Dorme, digo, dorme. Ou então, e como alternativa, vou até
à janela, observo com atenção o ninho das gralhas e a pereira. “Os olhos dele continuarão a ver mesmo depois de os meus se terem fechado”, penso. Misturar-me-ei
com eles para lá do corpo que possuo e verei a Índia. Ele regressará a casa carregado de troféus que colocará a meus pés. Os meus haveres aumentarão à sua custa.
Contudo, nunca me lembro de madrugada para ver as gotas púrpuras de orvalho repousando nas folhas das couves, as gotas vermelhas de orvalho das rosas. Não vejo o
cão a farejar em círculo, nem me deito à noite vendo as folhas ocultar as estrelas, e estas moverem-se e as folhas permanecerem imóveis. Ouço chamar o carniceiro;
o leite tem de ser colocado à sombra para que não azede.
Dorme, digo, dorme, enquanto a chaleira ferve e o vapor que dela se eleva se vai tornando mais espesso, subindo num jacto a partir do bico. É assim que a vida
me enche as veias. É assim que a vida me escorre pelos membros. É assim que vou avançando até quase poder gritar, enquanto, sempre a abrir e a fechar as coisas,
vejo o Sol nascer e pôr-se.
Chega. Estou prestes a sufocar de tanta felicidade natural. Contudo, sei que não vou ficar por aqui. Terei mais filhos; mais berços; mais cestos na cozinha
e presuntos a secar; cebolas a brilhar; e talhões de alfaces e batatas. Sinto-me vogar como uma folha ao sabor da tempestade; ora roçando a erva úmida ora sendo
arrastada pelos ares. Estou prestes a sufocar de felicidade natural, e por vezes desejava que este sentimento de realização esmorecesse, que o peso da casa adormecida
deixasse de existir (e que tanto se faz sentir quando nos sentamos a ler), e que eu voltasse a ser o centro da trama que a minha agulha vai tecendo. A lâmpada como
que acende uma fogueira na janela. Há um fogo a arder no coração da hera. Vejo uma rua iluminada nas sempre-verdes. Ouço o ruído do trânsito nos sons provocados
pelo vento; vozes; gargalhadas; e também a Jinny que abre a porta e grita: “Vem! Vem!”.
Contudo, som algum interrompe o silêncio da nossa casa, onde os campos suspiram junto à porta. O vento passa através dos ulmeiros; uma borboleta nocturna vai
bater de encontro à lâmpada; uma vaca muge; um qualquer som infiltra-se entre as vigas, e eu quase que enfio a cabeça através do buraco da agulha e murmuro: “Dorme”.
– Chegou a hora – disse Jinny. – Acabamos de nos conhecer e juntámo-nos. Vamos falar, vamos contar histórias? Quem é ele? Quem é ela? Sinto uma curiosidade
infinita e não sei o que vem a seguir. Se tu, a quem nunca vi antes, me dissesses: O comboio parte de Piccadilly às quatro, nem sequer perderia tempo a fazer a mala,
partindo o mais depressa possível.
É melhor sentarmo-nos aqui, por baixo das flores, no sofá que está junto ao quadro. Vamos decorar a nossa árvore de Natal com factos e mais factos. As pessoas
não demorariam muito tempo a partir; é melhor agarrá-las enquanto é tempo. Dizes tu que aquele homem ali, junto à papeleira, vive rodeado de jarras de porcelana.
Partir uma delas é deitar milhares de libras pela janela. Apaixonou-se por uma rapariga em Roma e ela deixou-o. É daí que vem a fixação pelas jarras, velharias encontradas
em antiquários ou desenterradas nas areias do deserto. E, dado que a beleza precisa ser diariamente estilhaçada para permanecer bela, a vida daquele homem é algo
de estático num mar de porcelana. Mesmo assim, não deixa de ser estranho, pois, e enquanto jovem, chegou a sentar-se no solo enlameado e a beber rum com os soldados.
Precisamos ser rápidos e somar os factos com destreza fixando-os com um simples torcer de dedos. Ele não pára de fazer vénias. Chega a fazê-las frente às azáleas.
Fá-lo mesmo frente a uma mulher bastante idosa, pois ela usa brincos de diamante, e, exibindo o estatuto social que ocupava através de uma carruagem puxada por um
pônei, vai dizendo quem merece ser ajudado, que árvore deverá ser cortada, e quem irá aparecer amanhã. (Devo dizer-te que durante todos estes anos, e já passei dos
trinta, vivi em equilíbrio precário, mais ou menos como uma cabra montesa que vai saltando de rocha em rocha. Não fico muito tempo no mesmo sítio; e, muito embora
não me ligue a ninguém em particular, basta levantar o braço para que venham ter comigo.) Aquele homem é juiz; o outro é milionário, e aquele, o que tem o olho de
vidro, matou a governanta quando tinha dez anos, espetando-lhe uma flecha no coração. Depois disso, atravessou desertos transportando mensagens, participou em várias
revoluções, e agora recolhe o material para escrever um livro sobre a família da mãe, há muito estabelecida em Norfolk. Aquele sujeito de queixo azul tem a mão direita
mirrada. Porquê? Não sabemos. Aquela mulher – segredas-me discretamente, a que tem os brincos de pérolas –, foi em tempos a chama que iluminou a vida de um dos nossos
estadistas. Agora, e desde que ele morreu, vê fantasmas, lê a sina, e adoptou um jovem de pele escura, a quem chama o Messias. Aquele homem com os bigodes caídos,
tal como os de um oficial de cavalaria, levou uma vida da maior devassidão (está tudo escrito num qualquer livro de memórias) até que certo dia encontrou um desconhecido
no comboio, que, e no decorrer da viagem entre Edimburgo e Carlisle, o converteu limitando-se-lhe a ler a Bíblia.
E é assim que, em apenas alguns segundos, ágeis, perspicazes, deciframos os hieróglifos escritos no rosto dos outros. Aqui, nesta sala, somos como conchas
atiradas com violência contra a praia.
A porta não pára de se abrir. A sala não pára de se encher com conhecimento, angústia, vários tipos de ambição, uma grande dose de indiferença, e também algum
desespero. Dizes que juntos poderíamos construir catedrais, estabelecer políticas, condenar homens à morte, e administrar os assuntos de várias repartições públicas.
O grau de experiência que partilhamos é bastante profundo. Possuímos filhos de ambos os sexos, os quais educamos, tratamos quando estão com varicela, e criamos para
que possam herdar as nossas casas. De uma maneira ou de outra, todos trabalhamos na construção desta sexta-feira, alguns indo aos tribunais, outros ao jardim infantil;
outros ainda marchando e agrupando-se quatro a quatro. Há milhões de mãos ocupadas a costurar, a erguer ripas carregadas de tijolos. A actividade não tem fim. Escusado
será dizer que tudo recomeça amanhã; amanhã construiremos o sábado. Há quem vá apanhar o comboio para a França; outros embarcarão para a Índia. Há os que nunca mais
voltarão a entrar nesta sala. Um de nós pode morrer esta noite. O outro talvez conceba uma criança. Estar-nos-á reservado qualquer tipo de construção, política,
empreendimento, quadro, poema, filho, fábrica. A vida vem; a vida vai; somos nós quem a faz. Assim o dizes.
Mas nós, que vivemos no corpo, vemos os contornos das coisas com os olhos da imaginação. Vejo rochas iluminadas pelo sol. Não posso pegar nestes factos e colocá-los
numa gruta, fundindo as diferentes tonalidades que os caracterizam, amarelos e azuis, por exemplo, até os transformar numa única substância. Não posso permanecer
sentada por mais tempo. Preciso de me levantar e partir. O comboio deve estar prestes a abandonar o Piccadilly. Deixo cair todos estes factos – diamantes, mãos enrugadas,
jarras de porcelana – como um qualquer macaco deixa cair coco das patas. Sou incapaz de te dizer se a vida é isto ou aquilo. Vou juntar-me a esta multidão heterogênea.
Vou ser empurrada; atirada para cima e para baixo, semelhante a um navio no mar alto.
O certo é que agora sou chamada pelo meu próprio corpo, um companheiro que não pára de enviar sinais: “Não”, escuro e desagradável, e o dourado “Vem”, os quais
se sucedem rapidamente. Alguém se mexe. Terei levantado o braço? Terei olhado. Terá o meu lenço amarelo com os morangos vermelhos esvoaçado e emitido sinais? Ele
destacou-me do muro.
Segue-me. Estou a ser perseguida através da floresta. Tudo é arrebatado, tudo é nocturno, e os papagaios, empoleirados entre os ramos, soltam os gritos que
os caracterizam. Não podia ter os sentidos mais alerta. Sinto o quanto é áspera a cortina que empurro; sinto o gradeamento de ferro frio e a sua pintura estalada
sempre que nele poiso a mão. Estamos ao ar livre. A noite como que se abre; a noite, povoada de borboletas nocturnas; a noite, ocultando amantes preparados para
as maiores aventuras. Sinto o cheiro das rosas; das violetas; vejo pequenas manchas vermelhas e azuis. O cascalho e a relva vão-se sucedendo por baixo dos meus pés.
As traseiras dos edifícios iluminados erguem-se nos ares não sem alguma culpa. Todo este excesso de luzes faz com que Londres se mostre pouco à vontade. Está na
hora de entoarmos o nosso cântico de amor – Vem, vem, vem. Agora, o sinal dourado que emito assemelha-se a uma borboleta. Canta, canta, canta, exclamo, qual rouxinol
cuja melodia lhe tenha ficado entalada na garganta estreita. Ouço o estalar dos ramos e o entrechocar das hastes tal como se todos os animais da floresta estivessem
a caçar, elevando-se nos ares e mergulhando por entre os espinhos. Um deles acabou de me picar. Houve um que se enterrou bem fundo em mim.
As flores aveludadas e as folhas frescas acalmam-me, como que me ungem.
– Para quê olhar o relógio que está em cima da lareira? – disse Neville. – Sim, o tempo passa. E nós envelhecemos. Contudo, sinto-me bem em estar sentado junto
a ti, eu aqui e tu aí, nesta sala iluminada pelo fogo, em Londres. O mundo foi revistado até ao mais ínfimo pormenor, e nele já nada resta, nem mesmo flores. Repara
na luz vermelha que percorre a cortina dourada. A fruta por ela rodeada cai pesadamente. Cai mesmo junto à tua bota, ao mesmo tempo que te empresta ao rosto uma
moldura vermelha – creio tratar-se da luz da lareira e não da tua cara; creio serem aqueles livros encostados contra a parede; aquilo uma cortina; e isso talvez
um cadeirão. Todavia, quando entras tudo muda. As chávenas e os pires transformaram-se quando aqui chegaste de manhã. Pondo de lado o jornal, pensei que só o amor
faz com que as nossas vidas mesquinhas tenham algum esplendor e valham a pena ser vividas.
Levantei-me. Terminara o pequeno-almoço. Tínhamos todo o dia pela frente, e, dado o tempo estar agradável, atravessamos o parque e fomos até ao cais, descemos
o Strand até chegarmos a St. Paul, e paramos na loja onde comprei o guarda-chuva. Nunca deixamos de conversar, parando de vez em quando para ver as montras. Contudo,
será que isto pode durar? Foi esta a pergunta que fiz quando avistei o leão de Trafalgar Square – foi aí que revi o passado, cena a cena; ali está um ulmeiro, e
é aí que o Percival se encontra. Jurei que para sempre. Foi então que me deixei invadir pelas dúvidas do costume. Apertei-te a mão. Deixaste-me. A descida até ao
metropolitano foi como experimentar a morte. Somos como que separados, dissolvidos, por todos aqueles rostos e também pelo vento oco que parece rugir naqueles corredores
desertos. Sentei-me a observar o meu próprio quarto. Às cinco fiquei a saber que eras infiel. Peguei no telefone e o zumbir estúpido da sua voz a ecoar no quarto
vazio fez com que o coração me caísse aos pés. Foi então que a porta se abriu e tu apareceste. Tratou-se do mais perfeito dos nossos encontros. Porém, estes encontros
e despedidas acabam por nos destruir., Tenho a impressão de que esta sala é central, qualquer coisa escavada na noite eterna. Lá fora, as linhas cruzam-se e intersectam-se,
mas sempre à nossa volta, envolvendo-nos. Estamos num ponto central. Aqui podemos estar em silêncio ou falar sem levantar a voz. “Já reparaste nisto e naquilo?”,
perguntamos. Quando ele disse isto, queria dizer... Ela hesitou, e acredito que tenha mesmo chegado a suspeitar. Seja como for, o certo é que, ontem à noite, nas
escadas, ouvi vozes e um soluço. Tratava-se do fim da relação por eles mantida. É assim que tecemos os mais delicados filamentos em nosso redor, construindo um sistema.
Platão e Shakespeare estão incluídos, o mesmo se passando com uma série de gente obscura, de pessoas sem qualquer importância. Odeio homens que usam crucifixos no
lado esquerdo do colete. Odeio cerimônias, lamentações, e a figura trêmula e triste de Cristo colocada junto a outras figuras tremulas e tristes. Odeio igualmente
a pompa, a indiferença e o ênfase, sempre colocado no local errado, de todas as pessoas que se pavoneiam à luz de candelabros envergando vestidos de noite, estrelas
e condecorações. Há ainda os que urinam contra as vedações ou contra o sol poente nas planícies iluminadas pela luz fraca do Inverno, já para não falarmos do modo
como algumas mulheres se sentam no autocarro, de mãos nas ancas, transportando cestos – são estas as pessoas que nos levam a fazer sinais aos amigos para que as
olhem. Constitui um enorme alívio ter alguém a quem fazer sinais e não pronunciar qualquer palavra. Seguir os carreiros escuros da mente e entrar no passado, visitar
livros, empurrar ramos e arrancar alguns frutos. Então, tu pegas neles e ficas em estado de êxtase. Enquanto isso, eu observo os movimentos descontraídos do teu
corpo e maravilho-me com o à-vontade que os caracteriza, a sua força – o modo como abres as janelas de par em par, e tens a mesma facilidade em mover ambas as mãos.
Mas, infelizmente, a minha mente anda um pouco preguiçosa, cansa-se com facilidade; deixo-me cair exausto; talvez que um pouco enjoado, sempre que alcanço o objectivo
a que me tinha proposto. Caramba! Não pude montar a cavalo na Índia, usar um chapéu colonial e regressar a um bangalô. Sou incapaz de pular, como tu fazes, como
o fazem todos aqueles rapazinhos seminus que, no convés dos navios, se molham mutuamente com as mangueiras. Quero esta lareira, quero esta cadeira. Quero alguém
que se sente a meu lado depois de toda a angústia e correria do dia-a-dia, das suas conversas, esperas e suspeitas. Depois das brigas e reconciliações, preciso de
privacidade – de estar a sós contigo, de fazer calar este tumulto. O certo é que os meus hábitos são tão organizados como os dos gatos. Temos de combater o desperdício
e as deformidades do mundo, as multidões que nele se agitam, ruidosas e apressadas. Temos de usar facas de cortar papel para abrir de forma correcta as páginas dos
livros, atar maços de cartas com fitas de seda verde, e varrer as cinzas com a vassoura da lareira.
Devemos fazer tudo o que nos permita exprobrar o horror da deformidade. O melhor será lermos os escritores que apregoam a austeridade e a severidade romanas;
o melhor será procurarmos a perfeição por entre as areias. Sim, mas o certo é que adoro deixar escapar a virtude e a austeridade dos nobres romanos sob a luz cinzenta
dos teus olhos, das ervas que dançam a compasso com as brisas estivais, e das gargalhadas e gritos dos rapazes que não param de brincar – daqueles rapazes nus que
se molham no convés dos navios, servindo-se para isso de mangueiras. É por isso que, ao contrário do Louis, não busco a perfeição de forma desinteressada. As páginas
apresentam sempre muitas cores; as nuvens passam por sobre elas. Quanto ao poema – é apenas o som da tua voz. Alcibíades, Ájax, Heitor e Percival, todos eles se
encarnam em ti. Adoravam montar, arriscavam a vida em Verão, e também não eram grandes leitores. Todavia, não és Ájax nem Percival. Eles não franziam o nariz nem
coçavam a testa com gestos tão precisos. Tu és tu. É isso que me consola da falta de muitas coisas – sou feio, sou fraco –, da depravação do mundo, do passar da
juventude, da morte do Percival, e de todo um sem-número de amarguras, rancores e invejas. Porém, se houver um dia em que não venhas logo após o pequeno-almoço,
se houver um dia em que, através do espelho, te vir à procura de outro, se o telefone não parar de tocar no teu apartamento vazio, então, depois de ter sentido uma
angústia indescritível, então – pois não há fim para a loucura existente nos corações humanos – procurarei outro; acabando por encontrar alguém parecido contigo.
Entretanto, o melhor será abolirmos o tiquetaque do relógio com um único gesto. Aproxima-te!
O Sol estava agora mais baixo. As ilhas compostas por nuvens haviam ganho em densidade e espalhavam-se frente ao Sol, fazendo com que as rochas escurecessem
subitamente, as algas tremulas perdessem o tom azul que lhes era característico e se tornassem em fios prateados, e as sombras fossem arrastadas pelo mar como farrapos
cinzentos. As ondas haviam deixado de alcançar as poças situadas mais acima, o mesmo se passando em relação à linha escura traçada na praia de forma irregular. A
areia apresentava uma coloração branca semelhante à das pérolas, e era macia e brilhante.
Lá bem no alto, as aves voavam em círculos. Algumas montavam as pregas do vento e nelas se moviam como se fossem um corpo cortado em mil pedaços. Semelhantes
a redes, os pássaros caíam das copas das árvores. Aqui, uma ave solitária dirigia-se para o pântano, acabando por se sentar numa estaca branca, depois do que abria
as asas apenas para as voltar a fechar.
Caíram algumas pétalas no jardim. Lembram conchas poisadas no solo. A folha morta já não se encontra na vedação, tendo antes sido arrastada, ora correndo ora
parando, contra uma qualquer haste. Todas as flores eram iluminadas pela mesma onda de luz e rapidez, semelhante a uma barbatana riscando o espelho verde de um lago.
De vez em quando, uma rajada agitava as folhas para cima e para baixo, até que, com o amainar do vento, estas acabavam por recuperar a sua identidade. As flores,
queimando os discos brilhantes ao sol, espalhavam luz por toda a parte sempre que o vento as agitava, depois do que algumas cabeças demasiado pesadas para se voltarem
a erguer pendiam um pouco.
O sol da tarde iluminava os campos, tingindo as nuvens de azul e os milheirais de vermelho. Os campos pareciam estar cobertos por uma grossa camada de verniz.
Carroças, cavalos, bandos de gralhas – fosse o que fosse que ali se movesse ficava envolvido em ouro. Quando as vacas mexiam as patas, era como se delas se desprendessem
fios de ouro-velho, dando a impressão de terem os cornos envoltos em luz. As vedações estavam cobertas por espigas de milho dourado, as quais haviam sido arrastadas
das carroças desengonçadas que subiam os campos com um ar primitivo, primordial. As nuvens de cabeça redonda nunca se desfaziam, mantendo antes todos os átomos que
as tornavam tão redondas. Agora, ao passarem apanhavam toda uma aldeia na rede por elas formada, depois do que a deixavam de novo em liberdade. Lá longe, por entre
os milhões de grãos de poeira azul acinzentada, via-se arder uma vidraça ou adivinhavam-se os contornos de um campanário ou de uma árvore.
As cortinas vermelhas e as persianas brancas esvoaçavam para dentro e para fora batendo contra o parapeito da janela, e a luz que se escoava e filtrava de
forma irregular possuía um qualquer pigmento castanho e um certo ar de abandono, como se fosse soprada em folgadas contra as cortinas. Neste ponto, fazia com que
uma papeleira se tornasse um pouco mais castanha, enquanto naquele fazia tremer a janela junto à qual se encontrava a jarra verde.
Durante alguns instantes, tudo estremeceu e se curvou devido à incerteza e à ambiguidade, como se uma grande borboleta nocturna que percorresse a sala tivesse
ocultado com as asas a enorme solidez das cadeiras e das mesas.
– E o tempo – disse Bernard – deixa cair a sua gota. A gota que se formou no topo da alma acaba por cair. No topo da minha mente, o tempo deixou cair a sua
gota. Esta caiu a semana passada, quando me estava a barbear. De súbito, com a lâmina na mão, apercebi-me da natureza puramente mecânica do acto que desempenhava
(era a gota a formar-se) e, não sem alguma ironia, dei os parabéns às minhas mãos por conseguirem levar as coisas até ao fim. Barbeia, barbeia, barbeia, disse. Continua
a barbear. A gota caiu. Durante o dia, a intervalos regulares, sentia que o espírito como que viajava até esse espaço vazio, perguntando: “O que se perdeu? O que
terminou?”. Ainda murmurei: “Acabado e bem acabado, acabado e bem acabado”, consolando-me com palavras. As pessoas repararam na expressão vazia do meu rosto e na
inutilidade da conversa. As últimas palavras da frase foram-se apagando. E, quando apertava o casaco e me preparava para ir para casa, disse de forma dramática:
“Perdi a juventude.”
É curioso que, quando ocorre uma crise, há uma frase que insiste em nos vir socorrer, mesmo nada tendo a ver com o caso – trata-se do castigo de viver numa
civilização antiga e munido de um bloco-notas. A gota que caiu nada tinha a ver com o facto de estar a perder a juventude. Esta gota mais não era que o tempo a atingir
um certo ponto. O tempo, que mais não é que um pasto soalheiro coberto por uma luz trêmula, o tempo, que se espalha pelos campos ao meio-dia, fica como que suspenso
num determinado ponto. Semelhante a uma gota que cai de um copo cheio, assim o tempo cai. São estes os verdadeiros ciclos, os verdadeiros acontecimentos. Então,
como se toda a luminosidade da atmosfera tivesse sido retirada, vejo-lhe o fundo vazio. Vejo aqui o que o hábito cobre.
Deixo-me ficar na cama durante dias a fio. Janto fora e não paro de bocejar. Nem sequer me dou ao trabalho de concluir as frases, e as acções que pratico,
por norma tão inconstantes adquirem uma precisão mecânica. Foi numa destas ocasiões que, ao passar por uma agência de viagens e nela tendo entrado, comprei um bilhete
para Roma com a compostura característica das figuras mecânicas.
Encontro-me agora sentado num dos bancos de pedra existentes num dos muitos jardins que rodeiam a cidade eterna, e o homenzinho que se barbeava em Londres
parece-se com um monte de roupas velhas. Até mesmo Londres se desmoronou. A cidade nada mais é que fábricas em ruínas e alguns gasômetros. Ao mesmo tempo, não me
sinto integrado neste ambiente. Vejo padres vestidos de violeta e pitorescas irmãs-de-caridade; reparo apenas no que é exterior. Estou aqui sentado como se fosse
um convalescente, como se fosse um qualquer idiota que só consegue articular palavras compostas por apenas uma sílaba. “O sol é bom”, digo. “O frio é mau.” Semelhante
a um insecto poisado no cimo da terra, sinto-me andar às voltas, e, aqui sentado, quase podia jurar ser capaz de identificar o movimento de rotação do planeta. Não
consigo seguir o caminho oposto ao da terra. Tenho o pressentimento de que se prolongasse esta sensação por mais algumas polegadas acabaria por ir parar a um qualquer
território estranho. Porém, não sou muito arrojado. Nunca quero prolongar estes estados de desprendimento; não gosto deles; desprezo-os. Não quero transformar-me
em alguém capaz de se sentar no mesmo sítio durante cinquenta anos a viver em função do seu umbigo. Prefiro antes transformar-me numa carroça própria para transportar
vegetais, e ser arrastado por caminhos pedregosos.
A verdade é que não pertenço ao gênero dos que se satisfazem com uma pessoa ou com o infinito. Tanto um quarto fechado como o céu me dão as mesmas náuseas.
O meu ser apenas brilha quando todas as suas facetas se expõem aos olhares de muita gente. Encho-me de buracos quando o público me falta, diminuindo de volume como
se fosse um pedaço de papel queimado. “Oh, Mrs. Moffat, Mrs. Moffat”, digo, “venha varrer tudo isto”. As coisas escaparam-se-me por entre os dedos. Sobrevivi a certos
desejos; perdi amigos, alguns levados pela morte – o Percival – outros por não me ter dado ao trabalho de atravessar a rua. Não sou tão dotado como em tempos pensei.
Certas coisas estão para lá do meu alcance. Nunca conseguirei entender os problemas filosóficos mais difíceis. Roma é o limite da minha viagem. Semelhante a uma
gota adormecida, sou por vezes sobressaltado pela ideia de que nunca verei os selvagens do Taiti arpoando peixes à luz dos lampiões, nem mesmo leões a saltar na
selva e homens nus a comer carne crua. Nunca aprenderei russo ou lerei os Vedas. Nunca voltarei a ir bater com força contra o marco-postal. (Contudo, e devido à
violência do embate, a minha noite é magnificamente iluminada com algumas estrelas.) Todavia, e à medida que vou pensando, a verdade está cada vez mais próxima.
Foram muitos os anos em que murmurei com complacência: “Os meus filhos... a minha mulher... a minha casa... o meu cão”. Assim que abria a porta, deixava-me levar
por todos esses rituais familiares, envolvendo-me no seu calor. Porém, esse véu carinhoso caiu. Deixei de ter sentimentos de posse. (Nota: em termos de refinamento
físico, uma lavadeira italiana ocupa a mesma posição que a filha de um qualquer duque inglês.) Mas deixa-me pensar. A gota cai; atingiu-se outra etapa. Etapa após
etapa. E por que razão deveriam estas terminar? E até onde nos levam elas? A que conclusão? O certo é que envergam trajes solenes. Quando confrontados com estes
dilemas, os crentes consultam estes indivíduos trajados de violeta e aspecto sensual que por mim vão passando. Pela parte que nos toca, não gostamos de professores.
Se um homem se levantar e disser: “Olhem, esta é a verdade”, nesse mesmo instante, e à laia de pano de fundo, vejo um gato cor de areia a roubar uma posta de peixe.
“Repare, esqueceu-se do gato”, digo. Era por isso que, na escola, quando estávamos na capela mal iluminada, a visão do crucifixo usado pelo professor tanto irritava
o Neville. Eu, que estou sempre distraído, quer seja a olhar para os gatos ou para aquela abelha que não pára de zumbir em torno do bouquet que Lady Hampton insiste
em manter colado ao nariz, de pronto invento uma história que acaba por obliterar os ângulos do crucifixo. Inventei milhares de histórias. Enchi inúmeros blocos
de apontamentos com frases prontas a serem usadas assim que encontrasse a história verdadeira, a história à qual todas as frases se referem. No entanto, nunca a
descobri. Foi então que comecei a perguntar: “Será que existem histórias?”.
A partir deste terraço, repara na multidão que fervilha a teus pés. Repara na azáfama geral e no barulho. Aquela mula está a dar problemas ao condutor. Meia
dúzia de vagabundos bem intencionados oferecem os seus préstimos. Outros passam sem olhar. Têm tantos interesses como os fios de uma meada. Repara no arco formado
pelo céu, curvado por sobre as nuvens brancas. Imagina a mistura composta pelos prados, aquedutos e estradas, e também túmulos romanos destruídos, tudo isto na zona
de Champagna, e para lá desta o mar, e depois ainda mais terra e mais mar. Poderia isolar qualquer pormenor deste quadro – por exemplo, a carroça e a mula – e descrevê-lo
com o maior dos à-vontades. Mas por que razão perder tempo a descrever um homem atrapalhado com uma mula? Poderia também inventar histórias da rapariga que vem a
subir os degraus. Encontrou-se com ele à sombra de um arco... “Está tudo acabado”, disse ele, desviando-se da gaiola onde se encontrava um papagaio de louça. Ou
apenas: “Acabou-se”. Mas para quê impor as minhas concepções arbitrárias? Para quê realçar isto, moldar aquilo e construir figurinhas semelhantes aos brinquedos
que os vendedores ambulantes exibem pelas ruas? Para quê escolher isto entre uma infinitude de coisas – apenas um pormenor?
Aqui estou, em pleno processo de mudar de pele e tudo o que dirão será: “O Bernard está a passar dez dias em Roma”. Aqui estou eu, a subir e a descer este
terraço sem qualquer ponto de referência. Contudo, reparem como, à medida que caminho, os pontos e os traços se vão transformando em linhas contínuas, no modo como
as coisas vão perdendo a identidade separada que as caracterizava quando subi os degraus. O enorme vaso vermelho é agora uma mancha encarniçada vogando num mar cuja
coloração oscila entre o vermelho e o amarelo.
O mundo começa a mover-se como as vedações se movem quando o comboio parte, ou como as ondas do mar ao tentarem acompanhar os movimentos de um barco a vapor.
Eu também me movo. Começo a fazer parte da sequência geral em que uma coisa se sucede a outra, e parece ser inevitável que àquela árvore se siga o poste do telégrafo,
e só depois o intervalo na vedação. E, à medida que avanço, rodeado, incluído e fazendo parte de um todo, começam-se a formar as frases habituais, e sinto vontade
de as deixar escapar pelo alçapão que tenho na cabeça, e dirigir os passos na direcção daquele homem, cuja parte posterior da cabeça não deixa de me parecer familiar.
Andamos juntos na escola. Não tenho dúvidas de que nos encontraremos. Por certo, jantaremos juntos. Falaremos. Mas espera, espera um momento.
Estes instantes de evasão não devem ser desprezados. É com pouca frequência que ocorrem. O Taiti torna-se possível. Inclino-me no parapeito e vejo uma vastidão
de água. De súbito, eis que surge uma barbatana. Esta impressão visual não se encontra ligada a qualquer linha racional, surge como uma barbatana de golfinho no
horizonte. É com frequência as impressões visuais transmitirem umas quantas ideias breves, as quais o tempo se encarregará de decodificar e traduzir em palavras.
Sendo assim, anoto na letra B a seguinte frase: “Barbatana num deserto aquático”. Eu, que estou permanentemente a tomar notas nas margens da mente com vista à elaboração
de uma frase final, registro esta entrada, à espera de uma noite invernosa.
De momento, o melhor que tenho a fazer é ir almoçar a algum lado, erguer o copo, olhar através do vinho e ver mais do que aquilo que me é permitido pelo distanciamento
que me caracteriza. E, quando uma mulher bonita entrar no restaurante e abrir caminho entre as mesas, direi para mim mesmo: “Reparem como ela caminha ao encontro
de um deserto aquático”. Trata-se de uma observação sem sentido, mas para mim é algo de solene, plúmbeo, com o som fatal dos mundos a ruir e das águas caminhando
para a destruição.
Assim sendo, Bernard (é contigo que falo, tu, meu companheiro de aventuras), vamos começar este novo capítulo e observar a formação desta nova experiência
– desta nova gota – qualquer coisa de desconhecido, de estranho, impossível de ser identificado e igualmente terrível, e que está prestes a se formar. Aquele homem
chama-se Larpent.
– Nesta tarde quente – disse Susan –, aqui neste jardim, aqui, neste prado onde falo com o meu filho, alcancei o ponto mais alto dos meus desejos. A dobradiça
do portão tem ferrugem; ele puxa-a para a abrir. As paixões violentas características da infância, as lágrimas que chorei no jardim quando a Jinny beijou o Louis,
a raiva que me invadia na escola (que cheirava a pinho), a solidão que sentia em locais desconhecidos, quando os cascos das mulas batiam de encontro ao chão e as
mulheres italianas falavam junto à fonte, embrulhadas em xales e com cravos espetados nos cabelos, tudo isto foi recompensado por um sentimento de segurança, posse,
familiaridade. Conheci anos produtivos, calmos. Possuo tudo o que vejo. Assisti ao crescimento das árvores que plantei. Construí pequenos lagos onde os peixes dourados
se escondem por baixo das folhas largas dos lírios. Coloquei redes por sobre os canteiros de morangos e alfaces, e coloquei as peras e as ameixas em sacos brancos
impedindo assim que as vespas as picassem. Vi os meus filhos e filhas, também eles outrora protegidos por rede quando ainda não se levantavam dos berços, crescerem
até se tornarem mais altos que eu e projectarem grandes sombras na erva quando caminham a meu lado.
Pertenço aqui. Semelhante às minhas árvores, é aqui que tenho raízes. Uso frases como “meu filho”, e “minha filha”, e até mesmo o dono da loja de ferragens,
erguendo os olhos do balcão cheio de pregos, tintas e redes, respeita o velho carro que se encontra estacionado à sua porta, repleto de redes para caçar borboletas,
almofadas e cortiços. No Natal, penduramos visco branco por cima do relógio, pesamos as nossas amoras e cogumelos, contamos os frascos de compota, e colocamo-nos
junto à veneziana da janela da sala para sermos medidos. Também faço coroas mortuárias com flores brancas e folhas prateadas, às quais junto um cartão lamentando
a morte do pastor; enviando condolências à mulher do carreteiro morto; e sento-me junto ao leito das mulheres moribundas que murmuram os últimos terrores e se agarram
com força à minha mão; frequento divisões intoleráveis para quem não tenha nascido no campo, acostumado à vida na quinta, às lixeiras e às galinhas a esgaravatar,
e à mãe que tem apenas dois quartos e muitos filhos para criar. Vi janelas partirem-se devido ao calor, e senti nas narinas o cheiro das fossas. Pergunto-me agora,
de tesoura de podar nas mãos e por entre as flores, por onde poderá entrar a sombra. Que choque será capaz de libertar a minha vida, tão laboriosamente unida e comprimida?
Mesmo assim, dias há em que estou cansada da felicidade natural, dos frutos a crescer e das crianças enchendo a casa com remos, espingardas, caveiras, livros ganhos
em concursos, e toda a espécie de troféus. Estou farta do meu corpo, farta do modo laborioso como trabalho, dos modos pouco escrupulosos característicos da mãe que
protege, que reúne os filhos à mesa quando chega a hora das refeições, fitando-os de forma possessiva.
E quando chega a Primavera, com os seus aguaceiros frios e flores amarelas, que, ao olhar para a carne e ao apertar com força os saquinhos dourados das sultanas,
me lembro do modo como o Sol se erguia, as andorinhas vasculhavam a erva, das frases inventadas pelo Bernard quando éramos crianças, das folhas que sobre nós caíam,
brilhantes, luminosas, riscando o azul do céu, projectando luzes tremulas nas raízes esqueléticas das faias onde me sentava a soluçar. O pardal levantou voo. Ergui-me
de um salto e comecei a perseguir as palavras que insistiam em correr à minha frente, sem parar de subir, escapando-se por entre os ramos. Então, tal como acontece
com a superfície vidrada de uma tigela, a fixidez da minha manhã quebrou-se, e, poisando as sacas de farinha, pensei: “A vida aperta-se em meu redor como uma redoma
de vidro cercando um canavial”.
Peguei na tesoura e cortei algumas malvas, eu, que já estive em Elvedon, pisei bolotas podres, vi uma dama a escrever no jardim e os jardineiros com as suas
vassouras. Vimo-nos obrigados a fugir, arquejando, caso contrário seríamos mortos e pregados ao muro como doninhas. Agora, calculo e encarrego-me de manter as coisas.
À noite, sento-me no cadeirão e estendo a mão para a costura; ouço o meu marido ressonar; levanto os olhos quando as luzes dos carros que vão passando iluminam as
janelas e sinto as ondas da vida agitarem-se e quebrarem-se em meu redor, eu, que estou presa pelas raízes; ouço grilos e vejo as vidas alheias rodopiarem como palhinhas
em torno dos pilares das pontes. Tudo isto acontece à medida que enfio e puxo a agulha, construindo um bordado no tecido de algodão branco.
Às vezes, penso no Percival, que tanto me amou. Estava na Índia, ia a cavalo e caiu. Há alturas em que me lembro da Rhoda. Gritos agudos despertam-me a meio
da noite. Porém, e durante a maior parte do tempo, sinto-me feliz em andar com os meus filhos. Corto as pétalas mortas das malvas. Entroncada, com o cabelo branco
antes do tempo, passeio pelos campos que me pertencem, percorrendo-os com um olhar claro, o olhar de quem tem olhos em forma de pêra.
– Cá estou eu – disse Jinny –, na estação de metropolitano onde conflui tudo o que há de desejável, Piccadilly South Side, Piccadilly North Side, Regent Street
e Haymarket. Deixo-me ficar debaixo do passeio durante alguns instantes, bem no coração de Londres. São muitas as rodas e os pés que circulam por sobre a minha cabeça.
É aqui que se encontram as avenidas da civilização, bifurcando-se depois nesta ou naquela direcção. Estou no coração da vida. Mas, reparem, lá está o meu corpo reflectido
naquele espelho. Como ele parece solitário, mirrado, envelhecido! Deixei de ser jovem. Deixei de pertencer à procissão. São milhões os que caminham escada abaixo,
numa descida infernal. Muitas são as engrenagens que os empurram para baixo. O número dos que morreram ascende aos muitos milhões. O Percival também morreu. Todavia,
continuo viva, em movimento. Mas, o que acontecerá se eu fizer um sinal?
Dado não passar de um pequeno animal, arfando de medo, deixo-me aqui ficar, palpitante, trêmula. Porém, sei que hei-de perder o medo. Baixarei o chicote sobre
os meus flancos. Não sou um animalzinho uivante que procura a sombra. Só me senti assim durante breves instantes, ao me ver sem ter tido tempo de me preparar, o
que sempre faço antes de me confrontar com a visão de mim mesma.
É verdade; não sou jovem – já falta pouco para sentir que levanto o braço em vão e que o lenço cai a meu lado sem ter emitido qualquer sinal. Deixarei de ouvir
a noite encher-se de suspiros e sentir que alguém se aproxima de mim através da escuridão. As vidraças dos túneis escuros deixarão de se encher de reflexos. Olharei
para os rostos alheios e vê-los-ei procurar outra face. Durante um breve momento admito que o modo como os corpos descem as escadas rolantes, muito direitos, assemelhando-se
ao avançar de um qualquer exército composto por mortos, e a vibração das grandes máquinas que nos empurram a todos, me fez medo e senti a necessidade de procurar
abrigo.
No entanto, ainda à frente do espelho e fazendo todos aqueles preparativos que me permitem estar à vontade, juro nunca mais sentir medo. Penso em todos os
autocarros que existem, amarelos e vermelhos, que param e partem de acordo com o horário. Penso nos magníficos e poderosos automóveis que ora abrandam até estarem
em condições de acompanhar o caminhar dos seres humanos, ora se precipitam para a frente como flechas; penso nos homens e nas mulheres, equipados, preparados, que
seguem em frente. Trata-se de uma procissão triunfante; é este o exército que, armado de pendões, águias de bronze e cabeças coroadas de coroas de louro, ganhou
a batalha. Trata-se de indivíduos superiores aos selvagens que cobrem as ancas com panos, às mulheres desgrenhadas e de peitos caídos, aos quais as crianças se agarram.
Estas vias largas – Piccadilly South, Piccadilly North, Regent Street e Haymarket – são como carreiros cobertos de areia atravessando a selva. Também eu, com os
meus sapatinhos de pele, o lenço que mais não é que uma rede finíssima, os lábios vermelhos e as sobrancelhas perfeitamente desenhadas, marcho com eles rumo à vitória.
Reparem no modo como todos exibem as roupas que vestem. Mesmo no subsolo, é como se a luz nunca parasse de brilhar. Não deixarão que a terra seja uma pasta
enlamada e cheia de vermes. Existem vitrinas carregadas de rendas e seda, e roupa interior finamente bordada. Púrpura, verde, violeta, as cores misturam-se por toda
a parte. Pensem no modo como estes túneis que sulcam as rochas foram organizados, abertos, limpos e pintados. Os elevadores sobem e descem; os comboios param e partem
com uma regularidade semelhante à das ondas do mar. É com isto que concordo. Sou natural deste mundo, sigo os seus pendões. Como poderia pensar em procurar abrigo
quando tudo é tão magnificamente curioso, ousado, aventureiro, e também suficientemente forte para, mesmo durante o maior esforço, parar e rabiscar na parede uma
qualquer anedota? É por isso que vou espalhar pó no rosto e retocar a pintura dos lábios. Traçarei a linha das sobrancelhas ainda com mais força. Tão direita como
os outros, acabarei por emergir à superfície, em Piccadilly Circus. Farei sinal a um táxi, cujo condutor compreenderá de imediato aquilo que quero, demonstrando-o
pelo modo como ocorrer à chamada. O certo é que ainda desperto desejo. Continuo a sentir o modo como os homens se viram na rua, lembrando o mover silencioso das
hastes de milho quando o vento as empurra, enchendo-as de pregas vermelhas. Vou para casa encher as jarras com ramos de flores exuberantes, extravagantes. Disporei
as cadeiras desta ou daquela maneira. Terei prontos alguns cigarros, copos, e um qualquer livro recém-publicado, cuja capa chame a atenção, não se vá dar o caso
de receber a visita do Bernard, do Neville ou do Louis. Mas talvez nem sequer seja um deles, antes sim alguém novo, desconhecido, alguém com quem me tenha cruzado
numa escada e a quem, voltando-me um pouco, murmurei: “Vem”. Ele virá esta tarde, alguém que não conheço, alguém novo. O exército silencioso dos mortos que desça.
Eu sigo em frente.
– Deixei de precisar de um quarto – disse Neville –, o mesmo se passando em relação às paredes e às lareiras. Já não sou jovem. Passo pela casa da Jinny sem
qualquer sentimento de inveja, e sorrio ao jovem que, com algum nervosismo, arranja a gravata nos degraus. O janota que toque a campainha; que a encontre. Quanto
a mim, encontrá-la-ei se quiser; se não, nem sequer me deterei. A velha acidez deixou de arder – tudo se foi: a inveja, a intriga e a amargura. Também perdemos a
nossa glória. Quando éramos jovens, sentávamo-nos em qualquer lado, em bancos desconfortáveis e em salas onde as portas não paravam de bater. Andávamos de um lado
para o outro seminus, iguais a rapazes atirando água uns aos outros no convés do navio. Sou agora capaz de jurar que gosto de ver as multidões sair do metropolitano
ao fim de um dia de trabalho, uniformes, indiscriminadas, incontáveis. Já colhi o fruto que me cabia. Observo sem nutrir qualquer tipo de paixão.
Ao fim e ao cabo, não somos responsáveis. Não somos juízes. Ninguém nos obriga a torturar os nossos semelhantes com ferros e outros aparelhos; ninguém nos
pede que subamos aos púlpitos, dando-lhes sermões nas tardes pálidas de domingo. É bem melhor olhar para uma rosa, ou mesmo ler Shakespeare, que é o que faço aqui,
em Shaftesbury Avenue. Cá está o bobo, cá está o vilão. Ardendo na sua barca, é Cleópatra quem se aproxima naquele carro. Também aqui, se encontram as imagens dos
danados, de homens sem nariz que, na esquadra de polícia, gritam ao sentir que lhes estão a queimar os pés. Tudo isto é poesia desde que ninguém o escreva. Todos
representam os seus papéis com a maior das exactidões, e, antes mesmo de abrirem a boca, já sei o que vão dizer, ficando à espera do momento divino em que pronunciem
a palavra que devia ter sido escrita. Se fosse apenas pelo bem da peça, era capaz de percorrer Shaftesbury Avenue para sempre.
Vinda da rua, entrando em salas, há gente a falar, ou pelo menos a tentar fazê-lo. Ele diz, ela diz, alguém comenta que as coisas têm sido ditas com tanta
frequência, que basta uma palavra para que tudo fique dito. Discussões, gargalhadas, velhas ofensas – tudo isto paira no ar, engrossando-o. Pego num livro e leio
meia página de qualquer coisa. Ainda não consertaram o bico do bule de chá. Vestida com as roupas da mãe, uma criança dança.
Mas é então que a Rhoda, ou talvez seja o Louis, não importa, trata-se de um espírito austero e angustiado, entra e volta a sair. Querem enredo, não querem?
Querem uma razão? Esta cena vulgar não lhes basta? Não lhes basta esperar que as palavras sejam pronunciadas como se tivessem sido escritas; verem a forma encaixar
no sítio que lhes foi previamente destinado; aperceberem-se de súbito de um grupo recortando-se contra o céu. Contudo, se o que querem é violência, em todas as salas
vi mortes, crimes e suicídios. Este entra, aquele sai. Há soluços na escada. Ouvi frios quebrarem-se e o som de linhas unindo-se em nós no pedaço de cambraia branca
que aquela mulher tem poisado nos joelhos. Para quê, e à semelhança do que acontece com o Louis, querer encontrar um motivo, ou ainda, tal como a Rhoda, voar até
aos bosques e afastar as folhas dos loureiros à procura de estátuas? Dizem que devemos enfrentar a tempestade acreditando que o Sol brilha do outro lado; que o Sol
se reflecte em lagos cobertos de andorinhas. (Estamos em Novembro; os pobres seguram caixas de fósforos nos dedos roídos pelo vento.) Dizem que só aí se poderá descobrir
a verdade, e que a virtude (que aqui se deixa corromper nos becos) apenas lá é perfeita. A Rhoda passa por nós de pescoço estirado, um brilho fanático e cego no
olhar. O Louis, agora tão corpulento, sobe até ao sótão, coloca-se à janela, e fica a observar o ponto por onde ela desapareceu. Contudo, vê-se obrigado a se sentar
no escritório, rodeado de máquinas de escrever e telefones, e descobrir tudo o que é necessário à nossa reabilitação, e à reforma de um mundo que ainda não nasceu.
Todavia, nesta sala onde entro sem bater, as coisas dizem-se como se tivessem sido escritas. Dirijo-me para a estante. Se me apetecer, leio meia página de
qualquer coisa. Não preciso falar. Escuto. Estou incrivelmente alerta. Claro que qualquer um pode ler este poema sem grandes esforços. É com frequência a página
encontrar-se corrompida e manchada de lama, rasgada e unida com folhas de coloração desmaiada, com pedacinhos de verbena ou gerânio. Para se ler este poema é preciso
ter-se olhos ultra-sensíveis, semelhantes àquelas lâmpadas que, a meio da noite, iluminam as águas do Atlântico, quando apenas só um punhado de algas se encontra
à superfície, ou, sem que nada o fizesse esperar, as ondas se abrissem e um monstro surgisse por entre elas. É preciso pôr de lado invejas e antipatias e não interromper.
É preciso ter paciência e um cuidado infinito, deixando que a luz descubra as coisas só por si, quer se trate das patas delicadas das aranhas percorrendo uma folha,
ou o som da água a escoar-se por um qualquer esgoto sem importância.
Nada deverá ser rejeitado por medo ou horror. O poeta que escreveu esta página (aquilo que leio enquanto os outros falam) retirou-se. Não existem vírgulas
nem pontos e vírgulas. Os versos não se sucedem com a métrica conveniente. A maior parte das coisas não faz sentido. Temos de ser cépticos, mas isso não quer dizer
que não deitemos as precauções para trás das costas e não aceitemos tudo o que nos entra pela porta. Há vezes em que devemos chorar; outras, servimo-nos de um machado
para cortar de forma impiedosa todo o tipo de cascas e outras excrescências. E assim (enquanto eles falam) deixar a rede mergulhar cada vez mais fundo, só depois
a puxando. É então que trazemos à superfície tudo o que ele e ela disseram, fazendo poesia.
Já os ouvi falar. Foram-se todos embora. Estou só. O facto de poder ver o fogo consumir-se eternamente, como uma caldeira, como uma fornalha, deveria alegrar-me.
Agora, um pedaço de madeira assemelha-se a um cadafalso, a um poço, ou ao vale da felicidade; agora é uma serpente vermelha com escamas brancas. Junto ao bico do
papagaio, o fruto que enfeita o cortinado parece aumentar de volume. O lume zumbe, lembrando insectos a zumbir na floresta. Não pára de crepitar. Enquanto isso,
lá fora os ramos quebram-se, e, provocando um ruído semelhante ao de um tiro, uma árvore cai. São estes os sons da noite de Londres. É então que ouço aquilo por
que esperava. Aproxima-se cada vez mais, hesita, pára à minha porta. Grito: “Entra. Senta-te junto a mim. Senta-te à beira do cadeirão”. Deixando-me levar por esta
velha fantasia, grito: “Aproxima-te, aproxima-te!”.
– Estou de volta ao escritório – disse Louis. – Penduro o casaco aqui, coloco a bengala ali – gosto de imaginar que Richelieu se apoiou na minha bengala. E
assim me despojo da autoridade que possuo. Passei o dia sentado à direita do director, na mesa envernizada. Os mapas dos nossos empreendimentos bem sucedidos olham-nos
da parede. Unimos o mundo com os navios da companhia. Só as nossas linhas mantêm o mundo unido. Sou muitíssimo respeitado. Todos os jovens que trabalham no escritório
se apercebem da minha entrada. Posso jantar onde quiser, e, sem revelar qualquer vaidade, imaginar que já falta pouco para que possa adquirir uma casa no Surrey,
dois automóveis, e uma estufa com algumas espécies raras de melão. Apesar disto, continuo a voltar a este salão, a pendurar o chapéu, e, na mais completa solidão,
reiniciar a curiosa tentativa que me mantém ocupado desde o dia em que bati à porta da sala do meu mestre. Abro um livrinho. Leio um poema. Basta apenas um poema.
Oh, vento oeste...
“Oh, vento oeste, tu que estás em luta constante com a minha mesa de mogno e os polainitos que uso, e também, como não podia deixar de ser, com a vulgaridade
da minha amante, uma actrizinha que nunca conseguiu falar inglês correctamente...”
Oh, vento oeste, quando irás soprar...
A Rhoda, com a sua enorme capacidade de abstracção, com aqueles olhos cegos, de cor indefinida, é incapaz de te destruir, vento oeste, quer venha à meia-noite,
quando as estrelas brilham, ou à hora bastante mais prosaica do meio-dia. Deixa-se ficar à janela a olhar os cataventos e as vidraças partidas das casas dos pobres...
Oh, vento oeste, quando irás soprar...
A minha tarefa, o meu fardo, tem sido sempre maior que o das outras pessoas. Colocaram-me uma pirâmide nos ombros. Tentei desempenhar uma tarefa colossal.
Derrotei uma equipa violenta, desordenada e amiga de fazer jogo sujo. Com o meu sotaque australiano, sentei-me nos restaurantes e tentei fazer com que os criados
me aceitassem, sem, no entanto, esquecer as minhas mais solenes e severas convicções, bem assim como as discrepâncias e incoerências que tinham de ser resolvidas.
Enquanto rapaz, e muito embora sonhasse com o Nilo e me mostrasse relutante em acordar, consegui bater à porta construída de madeira de carvalho. Teria sido muito
mais feliz se, à semelhança da Susan e do Percival, a quem tanto admiro, tivesse nascido sem destino.
Oh, vento oeste, quando irás soprar, fazendo assim cair a chuvinha miudinha?
A vida não tem sido fácil para mim. Sou uma espécie de aspirador gigante, uma boca gelatinosa, aderente, insaciável. Tentei desalojar da carne a pedra que
aí se alojara. Foi pouca a felicidade natural que conheci, muito embora tenha escolhido a minha amante de forma a que, com o seu sotaque cockney me fizesse sentir
à vontade. Porém, ela limita-se a espalhar pelo chão uma série de roupa interior pouco limpa, e a mulher da limpeza e os marçanos não param de falar a meu respeito
durante o dia, troçando do meu porte altivo e empertigado.
Oh, vento oeste, quando irás soprar, fazendo assim cair a chuvinha miudinha?
Afinal, que tem sido o meu destino, a pirâmide pontiaguda que trago aos ombros ao longo de todos estes anos? Que me lembre do Nilo e das mulheres transportando
ânforas à cabeça; que me sinta parte dos verões e invernos que fazem ondular o milho e gelar os rios? Não sou um ser singular e passageiro. A minha vida não se assemelha
ao brilho momentâneo que ocorre na superfície de um diamante. Penetro no solo de forma tortuosa, semelhante ao carcereiro que percorre as celas transportando uma
lanterna. O meu destino traduz-se pela obrigação de jantar, de unir, de transformar em um todos os fios existentes no mundo, os mais finos, os mais grossos, os que
se partiram, tudo o que constitui a nossa longa história, os nossos dias tumultuosos e variados. Há sempre algo mais para ser compreendido; uma discórdia a que dar
ouvidos; uma falsidade a ser reprimida. Estes telhados de telhas soltas, gatos escanzelados e águas-furtadas, todos eles estão quebrados e cheios de fuligem. Abro
caminho por sobre vidros partidos, azulejos riscados, e apenas vejo rostos vis e famintos.
Vamos supor que consigo resumir tudo isto – escrevo um poema e depois morro. Posso garantir-vos que não o faria de má vontade. O Percival morreu. A Rhoda deixou-me.
Contudo, sei que viverei de forma muito respeitável, abrindo caminho com a minha bengala de castão dourado por entre as ruas da cidade. Talvez nunca chegue sequer
a morrer, nunca consiga atingir essa continuidade e permanência... Oh, vento oeste, quando irás soprar, fazendo assim cair a chuvinha miudinha?
O Percival estava coberto de folhas verdes e desceu à terra com todos os ramos a murmurar ainda de acordo com a brisa estival. A Rhoda, com quem partilhava
o silêncio quando todos os outros falavam, ela, que se retraía e desviava quando a manada se reunia e marchava ordeiramente rumo às ricas pastagens, desapareceu
como uma miragem. É nela que penso quando o sol incendeia os telhados da cidade; quando as folhas secas caem ao chão; quando os velhotes se aproximam com as bengalas
pontiagudas e furam os pequenos pedaços de papel do mesmo modo que nós fazíamos com ela...
Oh, vento oeste, quando irás soprar, fazendo assim cair a chuvinha miudinha? Oh, meu Deus, como era bom o meu amor estar nos meus braços, E eu de volta ao
leito!
Regresso ao meu livro; regresso à minha tentativa.
– Oh, vida, como te tenho odiado – disse Rhoda –, oh, seres humanos, como vos tenho detestado! O modo como se têm acotovelado, a forma como têm interrompido,
o aspecto hediondo que apresentam em Oxford Street, o ar esquálido que tinham, sentados em frente uns aos outros no metropolitano, fixando o vazio! Agora, à medida
que subo esta montanha, no cimo da qual avistarei África, a minha mente está repleta de embrulhos compostos por papel castanho e pelos vossos rostos. Vocês mancharam-me
e corromperam-me. Para mais, nas filas que formavam junto às bilheteiras, desprendia-se dos vossos corpos um odor desagradável.
Estavam todos vestidos em tons de castanho e cinzento, sem que nos vossos chapéus se verificasse a presença de uma simples pena azul. Ninguém tinha coragem
de ser diferente daquilo que era. Para chegarem ao fim do dia, imagino até que ponto a vossa alma teve de enfrentar um processo de dissolução, as mentiras, vénias,
galanteios e actos de servilismo por vós levados a cabo! A forma como me amarraram a um único ponto, a uma cadeira, durante uma hora, e se sentaram do lado oposto!
A forma como me arrancaram os espaços em branco que dividem as horas e os transformaram em bolinhas sujas, as quais depois atiraram para o cesto dos papéis com as
vossas patas gordurosas!
No entanto, submeti-me. Com a mão, cobri todos os bocejos e caretas. Não saí para a rua e parti uma garrafa de encontro à valeta em sinal de protesto. Tremendo
de raiva, tentei mostrar que não estava surpreendida. Aquilo que faziam estava feito. Se a Susan e a Jinny puxavam as meias de uma determinada forma, então eu fazia
o mesmo. A vida era tão terrível, que apoiei as sombras umas nas outras. Olhei a vida desta e daquela maneira; deixei que ali houvessem folhas de rosa e ali parras
de videira – percorri a rua inteira, Oxford Street, Piccadilly Circus, com o turbilhão existente no meu espírito, com as parras e as folhas de rosa. Haviam também
malões, os quais se encontravam à porta da escola no primeiro dia de aulas. Esgueirava-me em segredo para ler as etiquetas e sonhar a respeito de nomes e rostos.
Talvez Harrogate, talvez Edimburgo, talvez toda a glória destes locais estivesse concentrada no ponto onde se podia ver uma qualquer rapariga, cujo nome já esqueci.
Mas tratava-se apenas do nome. Abandonei o Louis; receava abraços. Com que vestes, com que velas, tentei ocultar a lâmina azul-escura? Implorei ao dia para que se
revelasse durante a noite. Ansiei ver o armário mover-se, sentir a cama tornar-se mais macia, flutuar nos ares, avistar árvores e rostos distantes, um pântano rodeado
por uma faixa de terreno verde, e duas figuras alteradas despedindo-se. Atirei as palavras aos montes, qual agricultor espalhando as sementes pelos campos arados
quando a terra está nua. O meu maior desejo sempre foi o de aumentar a noite para a conseguir encher de sonhos.
Então, num qualquer festival, separei os fios condutores da música e descobri a casa que tínhamos construído: o quadrado em cima do rectângulo. “Está tudo
contido nesta casa”, disse, ao mesmo tempo que ia sendo atirada contra os ombros das pessoas que seguiam no mesmo autocarro, logo após a morte do Percival. Acabei
por ir para Greenwich. Enquanto caminhava pelo paredão, rezei para que me pudesse sempre manter nos limites do mundo, nos locais onde não há vegetação, mas sim uma
ou outra coluna de mármore. Atirei o ramo de flores contra a onda que alastrava. Disse: “Consome-me, leva-me até ao fim dos limites”. A onda rebentou; o ramo murchou.
São poucas as vezes em que penso no Percival.
Vou agora a subir esta colina espanhola, e não tenho qualquer dificuldade em achar que esta mula é a minha cama, e que já morri. Apenas uma película muito
fina me separa das profundezas infinitas. O coxim vai-se tornando mais mole. Vamos subindo aos tropeções – avançamos aos tropeções. Tenho vindo sempre a subir, rumo
a uma árvore solitária com um pequeno lago junto a si. Naveguei pelas águas da beleza na noite em que as montanhas se fecharam sobre si mesmas, semelhantes a aves
que encolhem as asas. Apanhei um ou outro cravo e hastes de feno. Deixei-me cair na turfa, toquei com os dedos num osso velho, e pensei: “Quando o vento fustiga
este monte, talvez que aqui só se consiga encontrar um grão de poeira”.
A mula tropeça e vai avançando. O cume da colina eleva-se como nevoeiro, mas lá de cima poderei ver África. A cama acaba por ceder debaixo do meu peso. Os
lençóis salpicados de buracos amarelos deixam-me cair. A boa mulher, cuja face lembra um cavalo branco e que se encontra aos pés da cama, faz um gesto de despedida
e vira-me as costas. Sendo assim, quem me irá acompanhar? Apenas as flores, nada mais. Apanhando-as uma a uma, fiz com elas uma coroa e ofereci-as – oh, a quem?
Avançamos agora pelo precipício. Aos nossos pés vêem-se as luzes dos barcos que pescam arenques. Os rochedos desaparecem. Pequenas e cinzentas, são muitas as ondas
que se espalham aos nossos pés. Nada toco. Nada vejo. Podemo-nos afundar e ir para o meio das ondas. O mar produziria toda a espécie de sons nos meus ouvidos. A
água salgada escureceria as pétalas brancas. Flutuariam durante alguns instantes, acabando por se afundar. Fazendo-me rebolar por sobre elas, as ondas acabariam
por me servir de suporte. Tudo se desfaz numa tremenda quantidade de salpicos, dissolvendo-me. Contudo, aquela árvore possui ramos; e aquilo mais não é que o contorno
bem definido do telhado de uma casa de campo. Aquelas formas pintadas de vermelho e amarelo afinal são rostos. Ponho os pés no chão e começo a andar com cautela,
até acabar por colocar a mão contra a porta dura de uma estalagem espanhola.
O Sol estava a pôr-se. A pedra dura que constituía o dia estava-se a partir, e a luz escoava-se por todas as fendas. As ondas eram percorridas por raios vermelhos
e dourados, semelhantes a flechas enfeitadas de penas escuras. Raios esporádicos de luz brilhavam e vagueavam um pouco por toda a parte, como se fossem sinais enviados
de ilhas isoladas, ou mesmo dardos lançados por rapazes brincalhões e sem vergonha. Todavia, as ondas, ao se aproximarem da praia, já não possuíam qualquer tipo
de luz, caindo todas ao mesmo tempo com um baque surdo, tal como um muro a cair, um muro de pedra cinzenta, sem que qualquer brilhozinho as iluminasse.
Elevou-se uma brisa; as folhas foram percorridas por um tremor; e, ao serem agitadas, perderam a intensidade castanha que as caracterizava, adquirindo tons
cinzentos ou brancos consoante a direcção em que as árvores se moviam. O falcão poisado no ramo superior pestanejou por alguns instantes, levantou voo e afastou-se.
A tarambola selvagem que vagueava pelos pântanos não parava de gritar, proclamando aos quatro ventos a sua solidão. O fumo dos comboios e das chaminés como que se
desfiava, fundindo-se com as velas que pairavam por sobre o mar e os campos.
O milho já fora cortado. O restolho era tudo o que restava da agitação que antes ali se vivera. Devagar, um mocho elevou-se do ulmeiro em que estava poisado,
indo aterrar num cedro. Nas montanhas, as sombras lentas ora se alargavam ora encolhiam. O lago existente na parte mais alta da charneca era um buraco vazio. Nenhum
focinho peludo ali se reflectia, casco algum ali batia, e nem mesmo os animais sequiosos ali procuravam água. Uma ave, empoleirada num ramo cor de cinza, encheu
o bico de água fria.
Não se ouvia o som das ceifeiras nem o ruído das rodas, mas apenas o súbito rugir do vento a enfunar as velas, com isso fustigando as copas das árvores. Via-se
ali um osso, objecto de tal forma marcado pela chuva e pelo sol, que emitia um brilho semelhante ao de uma concha polida pelo mar. A árvore, que na Primavera apresentava
uma coloração avermelhada e que no Verão deixava o vento sul agitar as folhas sensíveis, apresentava-se agora tão negra e despida como uma barra de ferro.
A terra encontrava-se tão longe que era impossível distinguir os brilhos de um telhado ou de uma janela. O tremendo peso da terra sombria arrastara consigo
estas frágeis cadeias, todas estas conchas embaraçadas. Via-se a sombra líquida de uma nuvem, o bater da chuva, um raio solitário de sol, ou o riscar inesperado
dos relâmpagos. Semelhantes a obeliscos, árvores solitárias marcavam as colinas distantes.
O sol poente, despojado de calor e cada vez menos intenso, suavizava as mesas e as cadeiras enfeitando-as de losangos castanhos e amarelos. Separadas por sombras,
o seu peso parecia maior, como se a cor, inclinando-se, se tivesse concentrado num único lado. As facas, garfos e copos pareciam agora mais alongados, como que inchados
e mais imponentes. Rodeado por um círculo vermelho, o espelho imobilizava a cena como que para todo o sempre.
Enquanto isso, as sombras alongavam-se na praia; a escuridão aumentava. A bota de ferro negro era agora uma mancha azul profunda. As rochas já não eram duras.
A água que rodeava o velho barco era escura, como que repleta de mexilhões. A espuma era lívida, deixando aqui e ali um brilho prateado na areia enevoada.
– Hampton Court – disse Bernard. – Hampton Court. É aqui o nosso ponto de encontro. Reparem nas chaminés vermelhas, nas ameias quadradas de Hampton Court.
O tom de voz que utilizo para pronunciar Hampton Court serve para provar que sou um indivíduo de meia-idade. Há dez, quinze anos atrás, teria dito Hampton Court,
ou seja, na interrogativa, perguntando-me o que lá poderia encontrar. Lagos, labirintos? Ou, como quem antecipa algo: O que me irá acontecer uma vez lá chegado?
Quem irei encontrar? Agora, Hampton Court, Hampton Court, as palavras chocam contra um gongo suspenso no ar (o qual fiz os possíveis por limpar através de meia dúzia
de telefonemas e postais) e ecoam em anéis de som, estrondosos, vibrantes. Tudo isto me traz à mente uma série de imagens (tardes de Verão, barcos, senhoras de idade
erguendo as pontas das saias, uma urna no Inverno, os narcisos em Março), tudo isto flutua agora nas águas que se encontram bem no fundo de todas as cenas.
Ali, na porta da estalagem, o local onde nos combinamos encontrar, posso vê-los a todos – Susan, Louis, Rhoda, Jinny e Neville. Chegaram juntos. Dentro de
momentos, quando me juntar a eles, formar-se-á um outro arranjo, um outro padrão. Aquilo que agora se desperdiça e forma cenas em profusão, será verificado, organizado.
Sinto-me um tanto relutante em me submeter a esta regra. Sinto que a ordem do meu ser irá ser alterada a cinquenta jardas de distância. A força do íman por eles
formado faz-se exercer sobre mim. Aproximo-me. Não me vêem. A Rhoda acaba por me descobrir, mas, dado ter um verdadeiro horror ao choque provocado pelos encontros,
finge que não passo de um estranho. O Neville volta-se. De súbito, ao levantar a mão para o saudar, grito: “Também coloquei pétalas de flores entre as páginas dos
sonetos de Shakespeare”, e mostro-me bastante agitado. Os meus barcos vão vogando ao sabor das ondas. Não existe panaceia (e talvez seja bom tomar nota disto) contra
o choque característico dos encontros.
É também pouco agradável termos de juntar pontas rasgadas, cruas. Só aos poucos o encontro se vai tornando agradável, à medida que entramos na estalagem e
vamos tirando casacos e chapéus. Sentamo-nos numa sala de jantar enorme e despida, a qual dá para uma espécie de parque, um qualquer espaço verde iluminado de forma
esplendorosa pelo sol poente, o que faz com que as árvores estejam separadas por barras douradas.
– Agora, sentados lado a lado nesta mesa estreita – disse Neville –, agora que a primeira vaga de emoções ainda não se esbateu, que sentimentos nos dominam?
Com honestidade e de forma aberta e frontal, como convém a velhos amigos que se encontram com dificuldade, quais os sentimentos que o nosso encontro desperta? Pena.
A porta não se irá abrir; ele não entrará. E temos pesos às costas, o que acontece com todos os que alcançaram a meia-idade. O melhor será despojarmo-nos dos fardos.
Perguntamos uns aos outros o que foi que fizemos da vida. Tu, Bernard; tu, Susan; tu, Jinny; e vocês, Rhoda e Louis?
As listas foram afixadas na porta. Antes de quebrarmos estes rolos e de nos servirmos do peixe e da salada, meto a mão no bolso interior e encontro os documentos
que procurava, aquilo que transporto para provar a minha superioridade. Passei. Trago documentos no bolso interior que o podem provar. Mas os teus olhos, Susan,
cheios de nabos e milheirais, perturbam-me.
Os papéis que trago no bolso, a prova de que fui bem sucedido, produzem um som bastante fraco, semelhante ao que é provocado por um homem que bate as palmas
num campo vazio para assim afugentar as gralhas. Agora, sob o olhar da Susan, os ruídos por mim provocados deixaram de se fazer sentir, e apenas escuto o vento varrendo
os campos arados e o canto de uma ave, talvez uma cotovia intoxicada. Será que o criado me escutou, o criado ou aqueles casais furtivos, ora se debruçando e recostando
ora olhando para as árvores que ainda não estão suficientemente escuras para proteger os seus corpos prostrados? Não; o som das palmas fracassou.
Que será então que me resta, agora que não posso puxar dos documentos e ler-vos em voz alta a prova de que fui bem sucedido? O que resta é o que a Susan traz
à tona com aqueles olhos verdes e amargos, aqueles olhos cristalinos, em forma de pêra. Quando nos juntamos, há sempre alguém que se recusa a ser submergido (e os
nossos encontros têm as pontas afiadas); alguém cuja identidade desejamos abafar com o nosso peso. Pela parte que me toca, gostaria de submergir a Susan. Falo para
a impressionar. Escuta-me, Susan!
Quando recebo visitas ao pequeno-almoço, até mesmo os frutos bordados nas cortinas parecem inchar, tornando assim possível que os papagaios os agarrem; qualquer
um os pode abrir pressionando-os entre os dedos. O leite desnatado da manhã ganha colorações opalinas, azuis, cor-de-rosa. A essa mesma hora, o teu marido – o homem
que pôs de parte as palavras e aponta para as vacas estéreis com o chicote – vai resmungando. Tu nada dizes. Nada vês. O hábito torna-te cega. A essa hora, a vossa
relação é muda, nula, parda. Nesse mesmo instante, a minha é quente e variada. Desconheço a palavra “repetição”. Os dias são todos perigosos. Lisos à superfície,
somos todos feitos de ossos, os quais, e à semelhança das serpentes, se vão contorcendo. Vamos supor que lemos o The Times; vamos supor que discutimos. Trata-se
de uma experiência. Suponhamos que é Inverno. A neve vai-se acumulando no telhado e escorregando por ele abaixo, selando-nos numa gruta vermelha. Os canos rebentaram.
Pomos uma banheira amarela no meio do quarto. Corremos a procurar todo o tipo de recipientes. Olha para ali – voltou a rebentar junto à escada. A visão da catástrofe
faz-nos rir a bom rir. Que se destrua a solidez! Que nos tirem tudo o que temos! Ou será que é Verão? Podemos ir passear para junto de um lago e ver os gansos chineses
nadar perto da margem, ou observar uma igreja citadina, semelhante a um osso, bem assim como as árvores tremulas que a rodeiam. (Escolho ao acaso; escolho o que
é óbvio.) Todos os sinais são como arabescos destinados a ilustrar um qualquer episódio e a maravilhar-nos no mais íntimo de nós mesmos. A neve, o cano rebentado,
a banheira de metal, os gansos chineses – trata-se de sinais erguidos bem alto, bastando-me olhar para eles para ler as características de cada amor; para ver o
quanto eram diferentes.
Entretanto, tu – e é por isso que quero diminuir a tua hostilidade, esses olhos verdes fixos nos meus, o teu vestido pobre, as tuas mãos calejadas, e todos
os outros emblemas característicos do teu esplendor maternal – fixaste-te como uma lapa à mesma rocha. Sim, é verdade, não te quero magoar; apenas refrescar e restaurar
a crença que nutro em relação a mim mesmo, e que desapareceu quando entraste. Antes, quando nos encontramos num restaurante de Londres com o Percival, tudo fervilhava
e se separava em grupos; podíamos ter sido qualquer coisa. Acabamos por escolher (às vezes parece que a escolha foi feita por nós) um par de tenazes, as quais nos
foram colocadas entre os ombros. Escolho. Sigo o fio da vida para dentro, e não para o exterior, em direcção a uma fibra crua desprotegida. Sinto-me sufocado e magoado
pelas marcas deixadas por mentes, rostos, e outras coisas tão subtis que, muito embora possuidoras de cheiro, cor, textura e substância, não têm nome. Para vocês,
que vêem os limites estreitos da minha vida e a linha que ela não pode ultrapassar, não passo do Neville. Contudo, e para mim, não conheço limites; sou uma rede
cujas fibras se estendem de forma imperceptível por todas as partes do mundo. É quase impossível distingui-la do que nela se encontra envolvido. Levanta baleias
– monstros enormes e alforrecas brancas, tudo o que é amorfo e errante ; detecto; distingo. Por baixo dos meus olhos, abre-se... um livro; vejo o fundo; o coração
– observo as profundezas. Sei quais os amores que estão prestes a se incendiar; o modo como a inveja espalha por toda a parte os seus raios verdes; a forma intrincada
como os amores se cruzam; como os amores se atam e separam brutalmente. Já estive amarrado; já fui separado.
Mas já conhecemos tempos gloriosos, quando esperávamos que a porta se abrisse e o Percival entrou; quando nos deixávamos cair num qualquer assento existente
nas salas públicas.
– Havia o bosque de faias – disse Susan –, Elvedon, e os ponteiros dourados do relógio lançando raios por entre as árvores. Os pardais partiram as folhas.
Luzes tremeluzentes pairavam por sobre a minha cabeça. Conseguiram-me escapar.
No entanto, repara bem, Neville (a quem desprezo para que possa ser eu mesma), na minha mão poisada em cima da mesa. Repara nas tonalidades saudáveis que se
espalham pelos nós dos dedos e pela pele da palma. O meu corpo é usado diariamente, como um instrumento manejado por um bom jardineiro que dele sabe fazer uso. A
lâmina está limpa, afiada, um pouco gasta no centro. (Batalhamos juntos como animais lutando no campo, como veados que fazem bater as hastes umas contra as outras.)
Vistas através da carne pálida e flácida, até mesmo as maçãs e os restantes frutos devem dar a sensação de estarem numa redoma de vidro. Enterrados num cadeirão
com apenas uma pessoa (mas uma pessoa que muda), vocês limitam-se a ver uma pequena porção de carne; os nervos, as fibras, o fluxo, ora veloz ora lento, do sangue;
mas nada vêem por completo.
Não vêem a casa que está no jardim; o cavalo que está no campo; o modo como a cidade está disposta, e tudo porque se curvam como as mulheres idosas que não
desviam os olhos da peça que costuram. Todavia, eu vi a vida em blocos, substancial, enorme; as suas ameias e torres, fábricas e gasômetros, uma habitação que vem
sendo construída ao longo dos tempos, seguindo um padrão hereditário. Trata-se de coisas que permanecem concretas, definidas, indissolúveis, pelo menos para mim.
Não sou sinuosa nem suave; sento-me entre vós enfrentando a vossa apatia com a minha dureza, destruindo os frêmitos das asas cinzentas das vossas palavras, servindo-me
para isso da raiva esverdeada dos meus olhos claros.
Acabamos por nos defrontar. Trata-se do prelúdio necessário; da saudação dos velhos amigos.
– O ouro desapareceu por entre as árvores – disse Rhoda –, atrás delas só se vê uma mancha verde, comprida como uma lâmina das facas que vemos nos sonhos,
ou uma qualquer ilha onde ninguém pisa. Os carros que descem a avenida começam a escassear. Os amantes podem agora ocultar-se sob o manto da escuridão; os troncos
das árvores parecem inchados, obscenos mesmo, pois estão cheios de amantes.
– Houve um tempo em que as coisas eram diferentes – disse Bernard. – Tempos em que podíamos romper as amarras se assim o desejássemos. Quantos telefonemas,
quantos postais são agora precisos para romper este buraco no qual nos juntamos, unidos, em Hampton Court? Com que rapidez a vida desliza de Janeiro a Dezembro!
Somos arrastados pela corrente composta por toda uma série de coisas que se tornaram demasiado óbvias, familiares, e que já não projectam sombra; não fazemos comparações;
pouco pensamos a nosso respeito; e é neste estado de inconsciência que nos libertamos da fricção, rompendo as algas que haviam entupido os desembocadouros dos canais
subterrâneos. Para que possamos apanhar o comboio que parte de Waterloo, temos de saltar e de nos elevar nos ares como se fôssemos peixes. E, não importa o quão
alto saltemos, acabamos sempre por voltar a mergulhar nas águas. Nunca entrarei naquele navio com destino aos mares do Sul. Roma marcou o limite das minhas viagens.
Tenho filhos e filhas. Semelhante à peça de um puzzle, pertenço a um determinado lugar.
No entanto, trata-se apenas do meu corpo (este homem envelhecido a quem chamam Bernard) que se fixou de forma irrevogável – pelo menos é isso que desejo acreditar.
Penso agora de forma mais desinteressada do que a que me caracterizava na juventude, e, para me descobrir, tenho de ir cada vez mais fundo. “Olha, que será isto?
E isto? Será que dará um belo presente? Será que é tudo?”, e assim por diante. Sei agora o que está dentro dos embrulhos e não me importo muito. Atiro os pensamentos
aos quatro ventos, tal como um homem atira as sementes ao ar, as quais caem por entre a luz do sol-poente, indo cair na terra previamente arada, brilhante e comprimida,
onde nada se encontra.
Uma frase. Uma frase imperfeita. E o que são frases? Deixaram-me pouco para colocar no tampo da mesa, junto à mão de Susan; pouco para tirar do bolso, junto
com as credenciais do Neville. Não sou nenhum perito em leis, medicina ou economia. Semelhante a uma palha rodeada de água, estou envolvido em frases fosforescentes,
emito brilhos. E, sempre que falo, todos sentem: Estou aceso. Estou a brilhar. Quando nos encontrávamos à sombra dos ulmeiros, nos campos de jogos, os rapazinhos
costumavam pensar que as frases que saíam dos meus lábios aos borbotões eram bastante boas. Eles próprios se elevavam; também eles se escapavam com as minhas frases.
Porém, eu definho na solidão. Esta é a minha ruína.
Vagueio de casa em casa como os frades da Idade Média que enganavam as raparigas e as mulheres casadas com contas e baladas. Sou um viajante, um bufarinheiro,
pagando com uma caução a hospitalidade que me oferecem; sou um convidado fácil de agradar; alguém que ora dorme no melhor quarto da casa, na cama de dossel, ora
passa a noite no estábulo, deitado num molho de feno. Não me importo com as pulgas, o mesmo se passando com o toque da seda. Tenho uma percepção demasiado clara
da perenidade da vida e das tentações que a caracterizam para impor proibições.
Apesar de tudo, não sou tão tolerante como vos pareço, a vós, que me julgam pela fluência com que me exprimo. Trago escondido na manga um punhal envenenado
com desprezo e austeridade. Contudo, estou sempre pronto a me dispersar. Invento histórias. Construo brinquedos a partir do nada. Há uma rapariga sentada à porta
de uma vivenda; está à espera; de quem? Seduzida ou não? O director descobre que há um buraco no tapete. Suspira. A esposa, passando os dedos pelas ondas do cabelo,
ainda abundante, reflecte – e assim por diante. O ondular de mãos, as hesitações ocorridas nas esquinas, alguém que deixa cair o cigarro na valeta – tudo isto são
histórias. Mas qual delas é a verdadeira? Isso não sei. É por isso que penduro as frases, como se estivessem num roupeiro à espera que alguém as use. E assim, esperando,
especulando, tomando nota disto ou daquilo, não me agarro à vida. Serei arrastado como uma abelha que zumbe junto aos girassóis. A minha filosofia, sempre a se acumular,
a crescer de momento a momento, espraia-se em simultâneo nas mais diversas direcções. Porém, o Louis, austero, se bem que de olhar selvagem, no sótão, no escritório,
chegou a conclusões inalteráveis sobre a verdadeira natura daquilo que há a saber.
– Quebrou-se – disse Louis. – A teia que tentei tecer acabou de se quebrar. Foram as vossas gargalhadas, a vossa indiferença, e também a vossa beleza, que
a quebraram. A Jinny partiu o fio há muitos anos, quando me beijou no jardim. Os gabarolas troçavam de mim na escola por falar com sotaque australiano, e também
o partiram. É este o significado, disse, e foi então que um baque me fez parar – vaidade. Escutem, disse, escutem o rouxinol que canta mesmo aos vossos pés; as conquistas
e as migrações. Acreditem e é então que sou como que posto de lado. Opto por viajar por sobre telhas partidas e vidros estilhaçados. São muitas as luzes que tombam
sobre mim, tornando estranho um simples leopardo. Este momento de reconciliação, quando nos unimos mais uma vez, este momento nocturno, com o seu vinho e folhas
tremulas, e jovens subindo a margem do rio, vestidos de flanela e transportando almofadas, dizia, este momento está obscurecido com as sombras dos calabouços e das
torturas praticadas por alguns homens contra outros homens. Tenho os sentidos tão imperfeitos que não consigo ocultar os ataques bastante graves que, em termos racionais,
vou fazendo contra todos nós, mesmo quando aqui estamos sentados. Pergunto a mim mesmo e à ponte qual será a solução. Como poderei reduzir estas vertigens, estas
aparições bailarinas, a uma linha capaz de as unificar? E é nisto que vou pensando. Entretanto, vocês observam com malícia o modo como comprimo os lábios, as minhas
faces macilentas, e as rugas que se formam na minha testa.
Todavia, peço-vos também para repararem na bengala e no colete. Herdei uma secretária de mogno e um gabinete repleto de mapas. Os nossos navios alcançaram
uma reputação invejável devido às suas cabinas luxuosas. Fornecemos piscinas e ginásios. O colete que uso é branco e consulto sempre a agenda antes de aceitar qualquer
compromisso.
É este o escudo e a forma irônica através da qual espero desviar as atenções de todos vós da minha alma trêmula, meiga, e infinitamente jovem e desprotegida.
O certo é que sou sempre o mais novo; o que se surpreende da forma mais ingênua; o que se oferece para ir à frente, mas sempre com medo de parecer ridículo – não
vá ter o nariz sujo ou um botão desapertado. Sofro em mim todas as humilhações. Apesar disso, também consigo ser impiedoso, duro. Não entendo quando vos ouço dizer
que a vida vale a pena ser vivida. As vossas pequenas alegrias, os vossos transportes infantis, os quais ocorrem quando a chaleira ferve, quando a brisa levanta
o lenço da Jinny e o faz flutuar como se de uma teia de aranha se tratasse, são para mim idênticos a véus de seda, com os quais se tenta tapar os olhos dos touros
enraivecidos. Condeno-vos. Porém, o meu coração precisa de vós. Convosco seria até capaz de atravessar as fogueiras da morte. Mesmo assim, sou mais feliz quando
estou só. Adoro vestir de ouro e púrpura. Apesar disso, prefiro olhar os contornos das chaminés; os gatos coçando os flancos escanzelados; as janelas partidas; e
o ruído duro e seco provocado pelos sinos que tocam numa qualquer capela de tijolo.
– Vejo o que tenho à frente – disse Jinny. – Este lenço, estas manchas cor de vinho. Este copo. Esta jarra cor de mostarda. Esta flor. Gosto do que pode ser
tocado, saboreado. Gosto da chuva depois de ela se ter transformado em neve e ganho gosto. E, dado ser mais brusca e muito mais corajosa que todos vós, não considero
a minha beleza mesquinha, caso contrário queimar-me-ia. Assumo-a por inteiro. É feita de carne; é feita de matéria. Só conheço a imaginação do corpo. As suas visões
não são tão finas nem tão imaculadamente brancas como as do Louis. Não gosto de gatos magros e das tuas chaminés rachadas. As belezas desagradáveis dos teus telhados
repelem-me. Delicio-me com a visão de homens e mulheres de uniforme, perucas e capas, chapéus de coco e camisolas pólo, e a incrível variedade de vestidos femininos
(reparo sempre em todas as roupas). É com eles que me misturo, que entro e saio de salas, salões, deste ou daquele lugar. É com eles que vou para toda a parte. Este
homem levanta o casco de um cavalo. Aquele abre e fecha as gavetas onde guarda as suas colecções. Nunca estou só. Vivo rodeada por indivíduos que me são semelhantes.
A minha mãe deve ter seguido o tambor, o meu pai o mar. Sou como um cachorro que desce a rua atrás da banda do regimento, mas que pára para cheirar o tronco de uma
árvore, esta ou aquela mancha castanha, e que de súbito corre atrás de um rafeiro qualquer, acabando por levantar uma pata ao sentir o cheiro a carne que lhe chega
do talho. As minhas viagens levaram-me a locais estranhos. Foram muitos os homens que passaram através do muro e vieram ter comigo. Bastou-me levantar a mão. Em
linha recta, semelhantes a dardos, vieram encontrar-se comigo no local devido, talvez uma cadeira colocada na varanda, talvez uma loja de esquina. Os tormentos,
as divisões típicas foram por mim resolvidas noite após noite, às vezes apenas devido ao toque de um dedo por baixo da toalha, o meu corpo tornou-se tão fluido,
que basta o toque de um dedo para se transformar numa única gota, a qual se enche, estremece, reluz, e acaba por cair, em êxtase.
Tenho-me sentado frente ao espelho do mesmo modo que vocês se sentam a escrever e a fazer contas. Assim, em frente ao espelho que se encontra no templo constituído
pelo meu quarto, analisei os olhos e o queixo que nele se reflectiam; aqueles lábios que se abrem de mais, revelando grande parte das gengivas. Tenho olhado. Tenho
reparado. Tenho escolhido aquilo que mais me convém: o branco ou o amarelo, o que brilha e o que é baço, as curvas e as linhas rectas. Sou volátil para este, rígida
para aquele, angulosa como um cristal de neve prateado, ou voluptuosa como uma chama púrpura. Projectei-me com toda a violência possível, como se fosse um chicote.
A camisa dele, ali, naquele canto, começou por ser branca; depois vermelha; fomos envolvidos pelo fumo e pelas chamas; depois de uma confrontação furiosa – muito
embora mal tenhamos levantado a voz, sentado no tapete em frente à lareira, à medida que murmurávamos os nossos segredos mais íntimos de forma a os transformar em
conchas, evitando assim que fossem escutados, mesmo depois de eu ter ouvido o cozinheiro e de certa vez termos pensado ser o tiquetaque do relógio uma bola de futebol
– transformamo-nos em cinzas, nada deixando que pudesse servir de relíquia, nenhum osso por queimar, nenhuma madeixa de cabelo susceptível de ser guardada. O meu
cabelo começou a embranquecer; estou a definhar; mas continuo a sentar-me frente ao espelho em pleno dia, e reparo com exactidão no meu nariz, queixo, e lábios que
se abrem de mais e revelam grande parte das gengivas. Mesmo assim, não tenho medo.
– Quando vinha da estação – disse Rhoda –, vi candeeiros e árvores que ainda não deixaram cair as folhas. Estas talvez me tivessem podido ocultar. Contudo,
e ao contrário do que era costume, não me escondi atrás delas. Ao invés de começar a andar em círculos com vista a evitar o choque provocado pela sensação, de pronto
caminhei ao vosso encontro. Mas claro que isto só foi possível porque ensinei o meu corpo a desempenhar um certo truque. Mesmo assim, este não resulta no que respeita
ao nível inferior; tenho medo, odeio, amo, invejo-vos e desprezo-vos, mas nunca me sinto feliz por vos encontrar. Quando vinha da estação, recusando-me a aceitar
a sombra das árvores e dos postes, apercebi-me através dos vossos casacos e chapéus de chuva, e isto mesmo à distância, o quanto vocês estão embebidos numa substância
constituída pela união de uma série de momentos repetidos; do modo como se comprometem, tomam atitudes, têm filhos, autoridade, fama, amor, amigos. Pela parte que
me toca, nada tenho, nem sequer um rosto.
Aqui, nesta sala de restaurante, vocês vêem as hastes dos veados que estão penduradas na parede e também os copos; os saleiros; as manchas amarelas que enchem
a toalha. “Criado!” exclama o Bernard. “Pão!”, grita a Susan. E o certo é que o criado nos vem trazer o pão. Mas eu encaro os contornos do copo como se pertencessem
a uma montanha, e vejo apenas alguns galhos das hastes, e até mesmo aquele jarro se me apresenta como uma fenda na escuridão. Não preciso dizer que tudo isto me
fascina e horroriza. As vossas vozes lembram o som das árvores que se quebram na floresta. Sinto o mesmo em relação aos vossos rostos, com as suas saliências e covas.
Como são belos quando vistos a uma certa distância e no escuro, imóveis, recortando-se contra a vedação de uma praça qualquer! Atrás de vocês existe um crescente
de espuma branca, e os pescadores que trabalham na beira do mundo lançam as redes para depois as recolherem. O vento agita as folhas mais altas das árvores primordiais.
(Contudo, estamos sentados em Hampton Court.) Os gritos dos papagaios quebram o silêncio da selva. (É neste ponto que os eléctricos arrancam.) A andorinha mergulha
as asas nos lagos nocturnos. (Aqui fala-se.) É esta a circunferência que tento agarrar assim que nos sentamos. É por isso que tenho de me penitenciar em Hampton
Court, e precisamente às sete e meia.
Mas, e dado que necessito destes pães e das garrafas de vinho, que os vossos rostos, mesmo com as covas e saliências que lhes são características, são belos,
e não é permitido à mancha amarela existente na toalha que alastre os seus círculos de compreensão (pelo menos é isso que sonho durante a noite, quando o leito onde
durmo flutua, acabando por cair sempre na terra) de forma a que estes possam abarcar todo o mundo, tenho de me sujeitar a todas as farsas do ser. Vejo-me obrigada
a fazê-lo quando me atiram com os filhos, os poemas, as frieiras, ou seja lá aquilo que fazem e de que têm de aceitar as consequências. Contudo, ainda não me desfiz.
Depois de todos estes chamamentos, destes ataques e buscas, deixar-me-ei cair no meio das chamas, passando primeiro por esta gaze muito suave. E vocês não me ajudarão.
Mais cruéis que qualquer torturador, deixar-me-ão cair, desfazendo-me em mil pedaços durante a queda. Mesmo assim, há momentos em que as paredes da mente se tornam
menos espessas; em que nada fica por absorver, de tal forma que seria capaz de imaginar que temos capacidade para soprar uma bola de sabão de tais dimensões que
o Sol nela se poderia pôr e nascer, e que poderíamos roubar o azul do meio-dia e o negro da meia-noite, e escaparmo-nos daqui de uma vez por todas.
– O silêncio vai caindo gota a gota – disse Bernard. – Forma-se no ponto mais alto da mente e vai-se acumulando em poças. Só, só, para sempre só, escutar o
silêncio cair e estender-se em círculos até aos limites extremos. Saciado e farto, sólido devido à felicidade característica da meia-idade, eu, a quem a solidão
destrói, deixo cair o silêncio, gota a gota.
Porém, os pingos de silêncio cavam-me abismos no rosto, desgastam-me o nariz, tal como acontece com os bonecos de neve quando apanham chuva. À medida que o
silêncio cai, vou-me dissolvendo, perco as feições, e mal me consigo distinguir dos outros. O facto também não interessa. Ao fim e ao cabo que é que interessa? Jantamos
bem. O peixe, as costeletas de veado e o vinho, tudo isto contribuiu para tornar rombo o dente afiado do egotismo. A ansiedade repousa. O mais vaidoso de todos nós,
talvez o Louis, já não se importa com o que as pessoas pensam. Cessaram as tonturas características do Neville. Os outros que prosperem – é isso que ele pensa. A
Susan escuta a respiração regular dos filhos, agora adormecidos. “Durmam, durmam”, murmura. A Rhoda inclinou os barcos na direcção da praia. Não lhe interessa saber
se se afundaram ou estão a salvo. Estamos prontos a aceitar de forma quase que imparcial toda e qualquer sugestão que o mundo nos possa oferecer. Reflicto agora
sobre a possibilidade de a Terra ser apenas uma pedrinha arrancada à superfície do Sol, e de não existir vida em lugar algum nos abismos do espaço.
– Neste silêncio – disse Susan –, parece que nenhuma folha vai cair, nem nenhuma ave levantar voo.
– Tal como se o milagre tivesse acontecido – disse Jinny –, e a vida se condensasse aqui e agora.
– E – disse Rhoda –, já não mais houvesse para viver.
– Mas – disse Louis –, escutem como o mundo se move nos abismos do espaço infinito. Ouçam-no rugir; a faixa iluminada da história deixou de existir, e com
ela os nossos reis e rainhas; deixamos de ser; a nossa civilização; o Nilo; a vida. Dissolveram-se as gotas que nos conferiam individualidade; extinguimo-nos; estamos
perdidos no abismo do tempo, na escuridão.
– O silêncio cai; o silêncio cai – disse Bernard. – Mas agora escutem: tiquetaque; silvo após silvo; o mundo fez-nos de novo regressar a ele. Durante breves
instantes, quando passamos para lá da vida, ouvi rugir os ventos da escuridão. Foi então que tiquetaque (o relógio); então, os silvos (os automóveis). Aportamos,
estamos na praia; somos seis indivíduos sentados à mesa. É a imagem do meu nariz que mo lembra. Levanto-me. Luta! Luta!, grito, lembrando-me da forma do nariz que
tenho, e acabo por bater com a colher na mesa.
– Temos de nos opor a este caos ilimitado – disse Neville –, a esta imbecilidade informe. Pelo simples facto de estar a fazer amor com uma qualquer criadita
debaixo de uma árvore, aquele soldado é mais digno de admiração que todas as estrelas. Porém, há momentos em que uma simples estrela a brilhar no céu me faz pensar
que o mundo é belo, e que nós, vermes, deformamos as árvores com a nossa luxúria.
– E contudo, Louis – disse Rhoda –, o silêncio dura pouco. Já começaram a alisar os guardanapos que estão junto aos pratos. “Quem lá vem?”, pergunta a Jinny,
e o Neville suspira, pois sabe que não pode ser o Percival. A Jinny tirou o espelho da bolsa. Observando o rosto com o olhar de um artista, passa a borla de pó-de-arroz
pelo nariz, e dá aos lábios o tom de vermelho que eles precisam. A Susan, a quem a visão destes preparativos provoca um sentimento onde o medo e o desprezo se misturam,
aperta o botão superior do casaco, de novo o desapertando. Para que se estará ela a preparar? Sim, para alguma coisa, mas para alguma coisa diferente.
– Estão a falar uns com os outros – disse Louis. – Dizem: Está na hora. Continuo vigoroso. O meu rosto sobressairá contra a escuridão do espaço infinito. Não
concluem as frases. Não param de repetir que está na hora. Os jardins fecharão. E, Rhoda, ao irmos com eles, ao nos deixarmos arrastar pela sua corrente, talvez
nos deixemos ficar um pouco para trás.
– Quais conspiradores, temos segredos a partilhar – disse Rhoda.
– É verdade – disse Bernard –, sinto-o cada vez com mais segurança à medida que vamos descendo a avenida, que houve um rei que caiu do cavalo precisamente
neste ponto, depois de o animal ter tropeçado num montículo de terra.
Contudo, não deixa de ser estranho situar nos abismos do espaço infinito uma figurinha com um bule dourado na cabeça. É com facilidade que se recupera a crença
nas figuras, mas não naquilo que elas colocam na cabeça. O nosso passado inglês, uma réstia de luz. É então que as pessoas colocam um bule na cabeça e dizem: “Sou
Rei”. Não pode ser. Enquanto caminho, tento recuperar o sentido do tempo, mas o fluxo de escuridão que me passa frente aos olhos impede-me de o fazer.
Este palácio parece ser tão leve como uma nuvem. Colocar reis em tronos e pôr-lhes coroas na cabeça – isso são apenas ilusões. E nós, caminhando os seis lado
a lado, que podemos opor a esta inundação, nós, que só temos uma pequena chama a que chamamos cérebro e sentimentos? Afinal, que é que permanece. As nossas vidas
também vão escorrendo pelas avenidas mal iluminadas, para lá do tempo, sem que sejam identificadas.
Certa vez, o Neville atirou-me um poema. Ao sentir uma súbita convicção de imortalidade, disse: “Também sei o que Shakespeare sabia”. Mas até isso desapareceu.
– De forma ridícula, injustificável, o tempo regressa à medida que avançamos – disse Neville. – A máquina funciona. O tempo fez com que o portão se tornasse
velho. Quando comparados com aquele cão que, todo empertigado, satisfaz as suas necessidades, trezentos anos nada parecem ser. O rei Guilherme, usando uma peruca,
monta a cavalo, e as damas da corte varrem o solo com as suas saias bordadas. Começo a convencer-me que o destino da Europa é de importância vital, e que, por muito
ridículo que possa parecer, tudo depende da batalha de Blenheim. Sim, declaro eu no momento em que atravessamos este portão, estamos no momento presente. De súbito,
transformei-me no rei Jorge.
– À medida que descemos a avenida – disse Louis –, eu apoiando-me suavemente na Jinny, o Bernard de braço dado com o Neville, e a Susan de mão dada comigo,
sinto dificuldade em não chorar, em não imaginar que somos crianças e que rezamos para que Deus vele por nós durante o sono. É tão doce cantar em conjunto, de mãos
dadas e com medo do escuro, enquanto a Miss Curry toca harmônica!
– Os portões de ferro recuaram – disse Jinny. – As mandíbulas do tempo pararam. Graças ao pó-de-arroz, ao rouge, e aos lenços finos, conseguimos derrotar os
abismos do espaço.
– Prendo, seguro-me com força – disse Susan. – Não largo esta mão, não importa de quem ela seja, e sinto amor, sinto ódio; não interessa saber qual ao certo.
– Somos possuídos por um sentimento de calma, da dissipação – disse Rhoda – e todos desfrutamos deste alívio momentâneo (não é muito frequente deixarmos de
sentir ansiedade), quando as paredes da mente se tornam transparentes. O palácio de Wren, semelhante ao quarteto que foi tocado por todas aquelas pessoas secas que
se encontravam nos assentos, é um rectângulo. Coloca-se um quadrado em cima do rectângulo e diz-se: É aqui que moramos. A estrutura é agora visível. Pouco ficou
de fora.
– A flor – disse Bernard –, o cravo vermelho que estava em cima da mesa do restaurante na noite em que jantamos com o Percival, transformou-se numa flor composta
de seis lados, de seis vidas.
– Numa luz misteriosa – disse Louis –, reflectida contra esses teixos.
– Construída com muita dor, com muitas pinceladas – disse Jinny.
– Casamentos, mortes, viagens, amizades – disse Bernard –, campo e cidade; filhos e tudo o mais; uma substância composta por muitos ângulos, feita a partir
desta escuridão; uma flor multifacetada. O melhor será pararmos por alguns instantes e contemplarmos o que fizemos. A nossa obra que brilhe, que incida nos teixos.
Uma vida. Ali. Acabou. Desapareceu.
– Foram-se todos embora – disse Louis. – A Susan com o Bernard. O Neville com a Jinny. Tu e eu, Rhoda, paramos por instantes junto a esta urna de pedra. Que
tipo de canto iremos escutar, agora que estes casais se embrenharam nos bosques e a Jinny, gesticulando com as mãos cobertas pela pele das luvas, tenta fazer crer
que está a reparar nos nenúfares, e a Susan, que sempre amou o Bernard, lhe diz: A minha vida arruinada, desperdiçada. E o Neville, segurando a pequena mão da Jinny,
a mão cujas unhas têm a cor das cerejas, grita, talvez que influenciado pelo lago e pelo luar: Amor, amor, ao que ela responde imitando a ave: Amor, amor. Que tipo
de canto escutamos.
– E lá desaparecem eles em direcção ao lago – disse Rhoda. – Avançam por sobre a relva com passos furtivos, se bem que com a segurança de quem nos pedem um
antigo privilégio que lhes é devido, o de não serem perturbados. A corrente da alma escoa-se naquela direcção; não podem fazer outra coisa senão partir, deixando-nos
sós. A escuridão envolveu-lhes os corpos. Que canto estaremos a ouvir, o do mocho, o do rouxinol, ou o da carriça? O barco a vapor assobia; brilham os fios dos eléctricos;
as árvores vergam-se e baloiçam com gravidade. Há um fulgor a pairar sobre Londres. Vê-se uma mulher idosa a caminhar devagar nesta direcção, e também um homem,
um pescador que se atrasou, e que desce o terraço com a cana de pesca. Nada nos pode escapar, quer seja som ou movimento.
– Uma ave regressa ao ninho – disse Louis. – A noite fê-la abrir os olhos, e ela examina os arbustos mais uma vez antes de adormecer. Como a deveremos montar,
a mensagem confusa e complexa que nos enviam, e não apenas eles, mas também os mortos, rapazes e raparigas, mulheres e homens adultos, que, sob o reinado deste ou
daquele rei, por aqui passaram.
– Caiu um peso na noite – disse Rhoda –, o que a fez afundar. As árvores parecem maiores devido a uma sombra que não é a que lhes está atrás. Ouvimos os ruídos
que nos chegam de uma cidade cercada quando os turcos estão esfomeados e de mau humor. Ouvimo-los gritar num tom agudo: Abram, abram.
Ouçam como os eléctricos chiam e os fios de electricidade brilham. Escutamos as faias e os vidoeiros a elevar os ramos, tal como se a noiva tivesse deixado
cair a camisa de noite e chegasse à porta dizendo: Abre, abre.
– Tudo parece estar vivo – disse Louis. – Esta noite não consigo ouvir a morte em parte alguma. Poder-se-ia pensar que a estupidez estampada no rosto daquele
homem e a idade daquela mulher teriam força suficiente para resistir ao feitiço e trazer a morte. Mas onde é que ela está esta noite? Toda a crueza, contratempos
e fins, se estilhaçaram contra esta corrente azul, orlada a vermelho, a qual, depois de ter arrastado o maior número possível de peixes até à praia, acaba por se
quebrar aos nossos pés.
– Se pudéssemos formar uma torre humana, se pudéssemos avistar as coisas de um ponto suficientemente alto – disse Rhoda –, se pudéssemos permanecer intocáveis
e sem qualquer apoio, mas tu, perturbado por toda uma série de sons distantes onde se misturam elogios e gargalhadas, e eu, que me ressinto das noções de compromisso,
de bem e de mal, confiamos apenas na violência e na solidão da morte, e é isso que nos divide.
– Estamos divididos para sempre – disse Louis. – Sacrificamos os abraços por entre os fetos e o amor, o amor, o amor junto ao rio. Fizemo-lo quando, semelhantes
a conspiradores que se afastam para partilhar um segredo, nos juntamos ao lado da urna. Mas olha, repara, há uma onda a rasgar o horizonte. A rede vai-se levantando
cada vez mais. Está quase à superfície. As águas são salpicadas por pequenos peixes, trêmulos e prateados. Vejo aproximarem-se algumas figuras. Serão homens ou mulheres?
Trazem ainda as vestes bordadas características da corrente onde estiveram mergulhadas.
– Agora – disse Rhoda –, ao passarem por aquela árvore, recuperam o tamanho natural. Trata-se apenas de homens e de mulheres. O fascínio e o encanto desaparecem
à medida que despem os brocados. A piedade regressa quando os vejo emergir ao luar, semelhantes às relíquias de um exército que, todas as noites (aqui ou na Grécia),
sai para lutar, regressando sempre com os rostos desolados e cobertos de feridas. A luz acaba por incidir sobre eles. Têm faces. Transformam-se na Susan e no Bernard,
na Jinny e no Neville, em gente que conhecemos. Como as coisas encolhem! Como tudo se encarquilha! Que humilhação! Sou percorrida pelos velhos arrepios, ódios e
tremores, ao sentir que os anzóis que nos lançam me prendem a um único ponto. Contudo, basta-lhes falar para que as primeiras palavras por eles pronunciadas e os
gestos que as acompanham me desviem do objectivo a que me propusera inicialmente.
– Algo tremeluz e dança – disse Louis. – A ilusão regressa, à medida que vão descendo a avenida. Volto-me a interrogar.
Que será que penso de vós? Que pensarão vocês de mim? Quem sois vós? Quem sou eu? – tudo isto faz com que sobre nós volte a pairar um ar algo constrangido,
e o pulso volta a bater mais depressa, os olhos iluminam-se, e toda a insanidade da existência pessoal, sem a qual a vida cairia redonda e morreria, tudo isto recomeça.
Eles estão sobre nós. O sol poente paira por sobre esta urna; abrimos caminho até à corrente característica do mar, violenta e cruel. O Senhor ajuda-nos a representar
o papel que nos compete quando saudamos a sua volta, a volta da Susan e do Bernard, a volta do Neville e da Jinny.
– Destruímos algo com a nossa presença – disse Bernard. – Talvez um mundo.
– E contudo, mal podemos respirar de cansados que estamos – disse Neville. – Encontramo-nos naquele estado mental exausto e passivo, quando apenas nos apetece
voltar ao corpo da mãe, do qual fomos separados. Tudo o resto é desagradável, forçado e cansativo. A esta luz, o lenço amarelo da Jinny adquire uma coloração parda.
A Susan tem os olhos mortiços. É quase impossível distinguirem-nos do rio. A ponta de um cigarro é a única coisa que nos confere algum ênfase. A tristeza mancha
o nosso contentamento por vos termos abandonado, por termos rasgado o tecido; possuídos pelo desejo de espremer um sumo ainda mais negro e amargo, mas igualmente
doce. No entanto, agora estamos estoirados.
– Depois do fogo – disse Jinny –, nada mais temos para guardar.
– Mesmo assim – disse Susan –, continuo de boca aberta, como uma qualquer jovem ave insatisfeita à qual algo tenha escapado.
– Antes de partirmos – disse Bernard –, talvez seja melhor ficarmos juntos por mais um momento. Vamos passear junto ao rio na mais completa solidão. Está quase
na hora de deitar. As pessoas já foram para casa. É bastante reconfortante observar as luzes apagarem-se nos quartos dos pequenos comerciantes que vivem do outro
lado do rio. Ali está uma, ali outra. Quais terão sido os lucros por eles hoje obtidos? Apenas o suficiente para pagar a renda, a electricidade, a comida e a roupa
dos filhos. Mas apenas o suficiente. Como é grande a sensação de que a vida é tolerável que nos é dada pelas luzes dos quartos dos pequenos lojistas! Quando chega
o sábado, o mais provável é terem apenas dinheiro para pagar quatro entradas de cinema. Talvez que antes de apagarem as luzes se dirijam até ao pequeno jardim que
possuem para olhar o coelho gigante que se encontra dentro da capoeira de madeira. Trata-se do coelho que comerão ao jantar de sábado. Depois apagam as luzes. Depois
adormecem. E, para milhares de pessoas, dormir não passa de algo quente e silencioso, de um prazer momentâneo composto por um qualquer sonho fantástico. Enviei a
carta para o jornal de domingo, pensa o merceeiro. Suponhamos que ganho quinhentas libras no jogo de futebol. E, claro, mataremos o coelho. A vida é agradável. A
vida é boa. Enviei a carta. Vamos matar o coelho. Só então adormece.
E este tipo de coisas continua. Ouço um som semelhante ao deslizar de vagões nos carris. Trata-se da ligação feliz que existe entre os acontecimentos que se
sucedem na vida de cada um. Toque, toque, toque. Dever, dever, dever. Deve-se partir, deve-se dormir, deve-se levantar – trata-se daquela palavra sóbria e piedosa
que pretendemos insultar, que apertamos com força contra o coração, e sem a qual não existiríamos. Como adoramos o som dos vagões que vão batendo uns contra os outros
ao deslizar nos carris!
Não muito longe do rio, ouço pessoas cantar. Trata-se dos rapazes gabarolas que regressam em grandes grupos depois de terem passado o dia no convés de um vapor
apinhado. Continuam a cantar da mesma forma de sempre quando atravessam o pátio nas noites de Inverno, ou quando as janelas se abrem durante o Verão, embebedando-se,
partindo a mobília, vestidos com pequenas capas às riscas, olhando na mesma direcção sempre que o eléctrico contorna a esquina. E eu que tanto queria estar com eles!
Vamo-nos desintegrando com o coro, com o som da água a correr, e com o murmúrio suave da brisa. Vão ruindo pequenos pedaços de nós. Ah! Alguma coisa de muito
importante caiu ali. Já não me consigo manter inteiro. Gostaria de dormir. Todavia, temos de partir; de apanhar o comboio; de voltar para a estação – temos, temos,
temos. Somos apenas corpos que avançam lado a lado aos solavancos. Existo apenas na sola dos pés e nos músculos cansados das coxas. Parece que caminho há já várias
horas. Mas por onde? Não me consigo lembrar. Sou como um tronco que desliza suavemente por sobre uma qualquer queda de água. Não sou juiz. Ninguém me pede para dar
a minha opinião. A esta luz cinzenta, as casas e as árvores parecem todas a mesma coisa. Será aquilo um poste? Uma mulher a andar? Aqui é a estação, e se o comboio
me cortasse em dois, acabaria por voltar a me transformar num ser uno, indivisível. Porém, não deixa de ser estranho o facto de continuar a agarrar com firmeza o
bilhete de regresso de Waterloo, mesmo agora, mesmo quando estou a dormir.
O Sol acabara de se pôr. Era impossível distinguir o céu e o mar. Ao rebentar, as ondas espalhavam os seus leques brancos por sobre a praia, enviavam sombras
brancas para os recantos das grutas, e acabavam por recuar, sussurrando por sobre o cascalho.
As árvores abanavam os ramos, enchendo o chão de folhas. Estas assentavam com a maior das composturas no local exacto onde acabariam por apodrecer. O barco
partido que antes lançara raios vermelhos projectava agora sombras negras e cinzentas no jardim. Manchas negras escureciam os túneis entre os caules. O tordo calou-se
e o verme voltou ao buraco estreito onde habitava. De vez em quando, uma palha esbranquiçada e vazia era soprada de um qualquer velho ninho e caía nas ervas escuras,
por entre as maçãs podres. A luz deixara de incidir na parede da arrecadação, e a pele da cobra continuava a abanar, presa por um prego. Dentro de casa, todas as
cores haviam alagado as margens que as continham. Até mesmo as pinceladas mais definidas estavam como que inchadas; armários e cadeiras fundiam as respectivas massas
castanhas até estas constituírem uma enorme obscuridade. A distância que separava o tecto do chão estava coberta por vastas cortinas escuras. O espelho estava tão
pálido como a entrada de uma gruta oculta por trepadeiras.
Esvaíra-se a solidez das montanhas. Luzes passageiras projectavam feixes triangulares por entre estradas invisíveis e afundadas, mas aquelas não encontravam
eco entre as asas dobradas das montanhas, e não se escutava qualquer outro som para além do grito de uma qualquer ave procurando uma árvore solitária. Na margem
do rochedo, sentia-se tanto o murmúrio do vento que passava por entre as florestas, como o das águas, arrefecidas em pleno oceano em milhares de copos cristalinos.
Tal como se o ar estivesse coberto de ondas sombrias, a escuridão alastrava, cobrindo casas, montanhas e árvores, da mesma forma que as vagas circulam em torno
de um navio afundado. A escuridão descia as ruas, rodopiando em volta de algumas figuras isoladas, envolvendo-as; apagando os casais agarrados à sombra dos ulmeiros
exuberantes na sua folhagem estival. As ondas de negrume rolavam pelos caminhos cobertos de erva e pela pele enrugada da turfa, envolvendo o espinheiro solitário
e as conchas de caracol vazias. Mais acima, a escuridão soprava ao longo das vertentes nuas das terras altas, chegando mesmo a alcançar os píncaros da montanha onde
a rocha dura está sempre coberta de neve, mesmo quando os vales se enchem de riachos, de folhas de videira, e também de raparigas que, sentadas em terraços e cobrindo
os rostos com leques, elevam os olhos para a neve. A escuridão tudo cobriu.
– Está na hora de resumir – disse Bernard. – Chegou a hora de te explicar o sentido da minha vida. Dado não nos conhecermos (se bem que me pareça já te ter
encontrado antes, a bordo de um navio que seguia para África), podemos falar com franqueza. Sinto-me possuído pela ilusão de que existe algo que adere durante alguns
instantes, é redondo, tem peso, profundidade, está completo. Pelo menos por agora, é assim que sinto a minha vida. Se fosse possível, seria este o presente que te
gostaria de oferecer. Arrancá-la-ia como quem arranca um cacho de uvas. Diria: “Toma. É a minha vida”.
Mas, infelizmente, não vês aquilo que vejo (este globo, cheio de figuras). Sentado à tua frente está um homem idoso bastante pesado, cheio de cabelos brancos.
Vês-me pegar no guardanapo e desdobrá-lo. Vês-me encher um copo de vinho.
E, atrás de mim, vês uma porta por onde as pessoas vão passando. Mas, para te dar a minha vida, para que a possas entender, tenho de te contar uma história
– e se elas são tantas, tantas –, histórias de infância, histórias do tempo da escola, de amores, casamentos, mortes, e assim por diante. Contudo, nenhuma é verdadeira.
Mesmo assim, iguais a crianças, vamos contando histórias uns aos outros, e, para as conseguirmos decorar, inventamos estas frases ridículas, rebuscadas, belas.
Estou tão cansado de histórias, tão cansado de frases que assentam tão bem! Para mais, detesto projectos de vida concebidos em folhas de blocos de apontamentos!
Começo a sentir saudades de um tipo de linguagem semelhante à que é usada pelos amantes, composta por palavras soltas e inarticuladas, semelhantes a pés arrastando-se
no caminho. Começo a procurar um conceito que esteja mais de acordo com os momentos de humilhação e triunfo com que sempre acabamos por nos deparar de vez em quando.
Deitado numa vala durante um dia de tempestade depois de ter estado a chover, vejo marcharem no céu nuvens grandes e pequenas. Nesses momentos, o que me delicia
é a confusão, o peso, a fúria e a indiferença. São nuvens que não param de mover e de se transformar; qualquer coisa de sulfuroso e sinistro, arqueado; ameaçador
até ao momento em que se estilhaça e desaparece, e lá estou eu, minúsculo, esquecido, na valeta. É nesses momentos que não consigo encontrar quaisquer vestígios
de história, de conceito.
Mas entretanto, enquanto comemos, o melhor será irmos virando estas cenas, tal como as crianças viram as páginas de um livro de gravuras e escutam a ama dizer,
ao mesmo tempo que aponta: “Aquilo é uma vaca. Aquilo é um barco”. Vamos virar as páginas, e, para tua alegria, acrescentarei alguns comentários nas margens.
No princípio, havia o quarto das crianças, com janelas que davam para um jardim, e, mais além, para o mar. Via qualquer coisa brilhante – sem dúvida que o
puxador dourado de um armário. Era então que Mrs. Constable elevava a esponja acima da cabeça, espremia-a, e tanto à esquerda como à direita da minha coluna se espalhavam
picadas de sensação. É por isso que, e desde que contenhamos a respiração, não mais deixamos de sentir estas picadas sempre que batemos contra uma cadeira, uma mesa,
uma mulher – ou mesmo se caminharmos pelo jardim e bebermos este vinho. De facto, sempre que passo por uma casa de campo onde a luz da janela indica que aí nasceu
uma criança, quase me sinto tentado a implorar que não espremam a esponja por sobre aquele novo corpo. Depois, havia o jardim e toda uma vasta panóplia de folhas
que pareciam tudo rodear; flores ardendo como chamas nas profundezas verdes; um rato escondido atrás de uma folha de ruibarbo; a mosca que não parava de zumbir junto
ao tecto do quarto, e um amontoado inocente de pratos com pão com manteiga. Todas estas coisas acontecem num segundo e duram para sempre. As faces começam por surgir
de forma indefinida. Saem como que dos cantos. “Olá”, diz uma delas, “aquela é a Jinny, Aquele o Neville. Lá está o Louis vestido com um fato de flanela azul e um
cinto de pele de cobra. Aquela é a Rhoda”. Esta tinha uma taça na qual fazia flutuar pétalas de flores brancas. Foi a Susan quem chorou no dia em que eu e o Neville
estávamos na arrecadação. O facto derreteu a minha indiferença. O mesmo não se passou com o Neville. “Sendo assim”, disse, “eu sou eu, e não o Neville”, o que foi
uma descoberta maravilhosa. A Susan chorou e eu segui-a. O lenço molhado e a visão das suas pequenas costas a subir e a descer como se de a alavanca de uma bomba
se tratasse, soluçando pelo que lhe fora negado, deixou-me com os nervos arrasados. “Não é para isso que nascemos”, disse, e sentei-me junto dela em cima de umas
raízes tão duras como esqueletos. Foi aí que me apercebi da presença daqueles inimigos que mudam, mas que estão sempre ali; as forças contra as quais lutamos. É
impensável deixarmo-nos levar de forma passiva. “É esse o teu curso, mundo”, diz alguém, “o meu é este”. Sendo assim, “o melhor é explorarmos tudo” gritei, e, levantando-me
de um salto, desci a encosta a correr junto com a Susan, tendo visto o rapaz que trabalhava nos estábulos andar de um lado para o outro com um enorme par de botas.
Mais abaixo, através das profundezas das folhas, os jardineiros varriam as folhas com as suas grandes vassouras.
Sentada, a dama escrevia. Fulminados, deixamo-nos ficar quietos como se estivéssemos mortos. Pensei: “Não posso interferir com o mais pequeno movimento destas
vassouras. Elas não param de varrer. Não se comparam à rigidez com que aquela mulher escreve. É estranho como não somos capazes de impedir os jardineiros de varrer
nem de desalojar uma mulher. Ficaram comigo toda a vida. É como se tivéssemos acordado em Stonehenge, rodeados por um círculo de pedras enormes, estes inimigos,
estas presenças. Foi então que um pardal levantou voo de uma árvore. E, dado estar apaixonado pela primeira vez na vida, construí uma frase – um poema a respeito
de um pardal – uma única frase, pois na minha mente havia-se aberto uma fenda, uma daquelas súbitas transparências através das quais tudo se vê. Era então que surgiam
mais travessas de pão com manteiga e mais moscas voando em círculos junto ao tecto, onde se amontoavam ilhas de luz, tremulas, opalinas enquanto os pingentes do
lustre pingavam gotas azuis, que se amontoavam a um canto da lareira. Dia após dia, sempre que nos sentávamos para lanchar, observávamos estes sinais.
Mas éramos todos muito diferentes. A cera – a cera virgem que cobre a espinha dorsal –, fundiu-se em caminhos diferentes para cada um de nós. Os grunhidos
do rapaz das botas a fazer amor com a criada por entre os arbustos; as roupas a secar estendidas na corda; o homem morto na valeta; a macieira iluminada pelo luar;
o rato coberto de vermes; o lustre a pingar azul – a nossa cera branca foi moldada e manchada de forma diferente por cada uma destas coisas. O Louis desgostou-se
com a natureza da carne humana; a Rhoda com a nossa crueldade; a Susan era incapaz de partilhar fosse o que fosse; o Neville queria ordem; a Susan amor; e assim
sucessivamente. Sofremos imenso quando nos tivemos de separar no plano físico.
Contudo, fui poupado a estes excessos e sobrevivi a muitos dos meus amigos (se bem que agora esteja gordo, grisalho, e tenha o peito um pouco atrofiado) precisamente
porque o que me delicia não é a imagem da vida vista a partir do telhado, mas sim da janela do terceiro andar. Não me interessa o que uma mulher pode dizer a um
homem, mesmo que ele seja eu. Assim sendo, por que razão me incomodavam na escola? Por que razão se metiam comigo? Havia o director, marchando na direcção da capela
como se comandasse um navio de guerra através de uma tempestade, dando ordens através de um megafone, pois as pessoas que ocupam lugares onde tenham de exercer autoridade
acabam sempre por se tornar melodramáticas – ao contrário do Neville e do Louis, não o odiava nem o venerava. Sempre que nos sentávamos na capela, eu tomava notas.
Viam-se ali pilares, sombras, placas de bronze invocando os mortos, rapazes passando cromos uns aos outros servindo-se do livro de orações como capa; o som de uma
bomba ferrugenta; o director a trovejar a respeito da imortalidade e do facto de termos de dali sair como homens; e o Percival a coçar a coxa. Tomei toda uma série
de notas para depois usar nas minhas histórias; desenhei quadros nas margens do bloco-notas, e assim me fui separando cada vez mais. Seguem-se duas ou três figuras
que vi.
Naquele dia, sentado na capela, o Percival não parava de olhar em frente. Tinha também o hábito de levar a mão à nuca. Todos os movimentos que fazia eram dignos
de nota. Todos levávamos as mãos às respectivas nucas – mas sem qualquer sucesso. Ele possuía o tipo de beleza que se defende de qualquer carícia. Dado não ser minimamente
precoce, lia tudo o que existia da nossa edificação sem fazer qualquer comentário, e pensava com aquela equanimidade (as palavras latinas surgem com naturalidade)
que só o podia preservar de tantos actos mesquinhos e humilhações, e também de pensar que os laçarotes que a Lucy usava no cabelo e as suas faces rosadas eram o
expoente da beleza feminina. Devido a estas defesas, o seu gosto acabou por se tornar requintadíssimo. Mas o melhor seria haver música, um qualquer canto feroz.
Devia entrar agora pela janela uma canção de caça, entoada por uma forma de vida rápida e impossível de apreender – um som que fizesse eco por entre as colinas,
acabando por esmorecer. Aqui o que é surpreendente, o que não podemos justificar, o que transforma a simetria em disparate – é isso que me vem à mente sempre que
penso nele. O pequeno instrumento de observação é desmontado. Os pilares desmoronam-se; o director desaparece; sou possuído por uma estranha exaltação. Encontrou
a morte numa corrida de cavalos, e, esta noite, enquanto descia Shaftesbury Avenue, aqueles rostos insignificantes e de contornos mal definidos que surgiam nas saídas
do metropolitano, muitos indianos obscuros, as pessoas que morrem devido à fome e à doença, as mulheres enganadas, os cães espancados e as crianças chorosas – todos
me pareciam ter sido roubados. Ele teria feito justiça. Tê-los-ia protegido. Por certo que aos quarenta anos teria chocado as autoridades. Nunca me ocorreu uma canção
de embalar que fosse capaz de o sossegar.
Mas o melhor será voltar a mergulhar a colher num outro objecto minucioso a que chamamos de forma optimista “a Personalidade de um amigo” – o Louis. Não tirava
os olhos do pregador. Parecia que todo o ser se lhe concentrava no aro das sobrancelhas. Tinha os lábios comprimidos; o olhar não se movia, mas era capaz de se iluminar
subitamente com uma gargalhada. Sofria de frieiras, um dos castigos para quem tem problemas de circulação. Infeliz, sem amigos, mesmo apesar de exilado, por vezes,
em momentos de confiança, era capaz de descrever o modo como as ondas varriam as praias da sua terra. O olho impiedoso da juventude fixava-se nas suas articulações
inchadas. Mesmo assim, não tínhamos qualquer problema em perceber o quanto ele era severo e capaz. Eram muitas as vezes em que, deitados à sombra dos ulmeiros, a
fingir que estávamos a ver o jogo de críquete, esperávamos a sua aparição, a qual raramente nos era concedida. Ressentíamo-nos do seu poder e adorávamos o Percival.
Formal, desconfiado, levantando os pés como se fosse um grou, mesmo assim corria a história de que partira uma porta ao murro. Porém, o cume da sua montanha era
demasiado despido, demasiado pedregoso para que este tipo de nevoeiro a ele aderisse. Não possuía aquelas ramificações que nos ligam aos outros. Permanecia isolado;
enigmático ; um erudito capaz daquela minuciosidade inspirada que tem em si qualquer coisa de formidável. As minhas frases (o modo como descrevia a Lua) não mereciam
a sua aprovação. Por outro lado, invejava-me quase até ao desespero pela facilidade por mim demonstrada em lidar com os criados. Não que não fosse capaz de se aperceber
das suas próprias falhas. Era qualquer coisa que andava a par com o seu respeito pela disciplina. Daí ter conseguido obter sucesso. Apesar de tudo, não teve uma
vida feliz. Mas reparem – os seus olhos vão-se tornando brancos, aqui, poisados na palma da minha mão. De súbito, a noção daquilo que as pessoas representam abandona-nos.
Devolvo-o ao lago, onde por certo adquirirá algum brilho.
Segue-se-lhe o Neville – deitado de costas, os olhos fitos no céu estival. Flutuava à nossa volta um pedaço de lanugem de cardo, assombrando de forma indolente
o recanto cheio de sol do pátio, e, se bem que nos escutasse, não estava totalmente longe. Foi graças a ele que aprendi algumas coisas sobre os clássicos latinos
sem nunca os ter lido, tendo também ganho o hábito de pensar – por exemplo, a respeito de crucifixos e de estes serem marcas do diabo – o que nos leva a ter uma
visão distorcida das coisas. Os nossos meios-amores e meios-ódios, e a ambiguidade por nós revelada a respeito de tudo isto, eram para ele insignificantes. O director
palavroso e baloiçante, o qual fiz sentar frente à lareira a abanar os braços, para ele nada mais era que um instrumento da inquisição. O facto espevitava-o com
um ardor que compensava a indolência característica dos homens que lêem Catulo, Horácio e Lucrécio, e, muito embora parecesse estar a dormitar sempre que assistia
a um jogo de críquete, o seu cérebro, semelhante à língua de um papa-formigas, rápida, hábil, pegajosa, vasculhava todas as curvas e contra-curvas daquelas frases
romanas, e nunca parava de procurar uma pessoa ao lado de quem se sentar.
E as saias compridas das mulheres dos professores passavam por nós com aquele ar ameaçador, e as mãos voavam-nos para os bonés. Éramos tomados por um enorme
aborrecimento, uma monotonia incrível. Nada, mas mesmo nada, quebrava com a barbatana o deserto plúmbeo das águas. Nunca acontecia nada capaz de levantar o peso
de uma monotonia tão intolerável. Os períodos sucediam-se. Crescíamos e mudávamos, pois o certo é que não passávamos de animais. Nem sempre estamos conscientes;
comemos e bebemos de forma automática. Não só existimos em separado mas também em bolhas de matéria impossíveis de diferenciar entre si. Como um todo, um grupo de
rapazes levanta-se e vai jogar críquete ou futebol.
Um exército marcha através da Europa. Reunimo-nos em parques e salões e opomo-nos a qualquer renegado (ao Neville, ao Louis e à Rhoda) que se atreve a ter
uma existência separada.
Sou feito de maneira tal, que, mesmo quando ouço uma ou duas melodias, por exemplo, quando o Neville ou o Louis cantam, não deixo de me sentir irresistivelmente
atraído pelo som do coro que entoa uma canção antiga, sem palavras e quase que despojada de sentido, a qual percorre todas as salas durante a noite; a que continuamos
a ouvir ribombar junto a nós à medida que os automóveis e os autocarros transportam as pessoas para os teatros. (Escutem; os carros precipitam-se para lá deste restaurante;
de vez em quando, no rio, há uma sirene que apita, o que indica a existência de um vapor dirigindo-se para o mar.) Se fosse num comboio e um caixeiro me oferecesse
um pouco de rapé, por certo que aceitaria. Gosto do aspecto copioso, uniforme, quente, não muito esperto mas extremamente fácil e bastante duro das coisas; do modo
como conversam os homens que frequentam os clubes e os bares; dos mineiros seminus – de tudo o que é directo e não tem outro fim em vista senão jantar, amar, fazer
dinheiro e dar-se mais ou menos bem com os outros; de tudo o que não acalenta grandes esperanças, ideias, ou qualquer coisa do gênero; de tudo o que só pretende
tirar bom proveito de si mesmo. Gosto de tudo isto. Era por isso que me juntava aos outros sempre que o Neville ou o Louis amuavam, virando-me as costas.
E foi assim, nem sempre da mesma forma ou seguindo uma ordem precisa, que a minha cobertura de cera se foi derretendo, gota a gota. Através desta transparência
tudo se tornou visível, até mesmo aqueles campos maravilhosos onde nunca ninguém esteve e que a princípio só o luar iluminava; prados cobertos de rosas e crocos,
e também de rochas e cabras; de coisas manchadas e escuras; do que está embaraçado, ligado, e ainda do que trepa. Levantamo-nos da cama de um salto, abrimos a janela,
e com que barulho as aves levantam voo! Todos conhecemos aquele súbito bater de asas, aqueles gritos de espanto, canções e confusão; a mistura de vozes; e todas
as gotas brilham e tremem, como se o jardim fosse um mosaico composto por muitos fragmentos, sumindo, chispando; sem contudo se ter transformado numa só coisa; e
um pássaro canta junto à janela. Escutei essas canções. Segui esses fantasmas. Vi uma série de Joans, Dorothys e Miriams (já não me lembro como se chamavam) descer
as avenidas e pararem nos pontos mais altos das pontes para olhar o rio. E de entre elas elevam-se uma ou duas figuras distintas, aves que cantavam junto à janela
com o egoísmo próprio da juventude; que quebravam as cascas nas pedras e enterravam os bicos na matéria pegajosa; duras, ávidas, sem possuírem qualquer tipo de remorsos;
são elas a Jinny, a Susan e a Rhoda. Penso terem sido educadas ou na costa leste ou no sul. Deixaram crescer o cabelo, prenderam-no em rabos-de-cavalo, e adquiriram
o ar de éguas espantadas próprio da adolescência.
A Jinny foi a primeira a deslizar até junto ao portão só para comer açúcar. Revelando grande esperteza, roubava os torrões aos que os tinham, mas as suas orelhas
estavam sempre puxadas para trás, o que indicava encontrar-se sempre pronta a morder. A Rhoda era arisca – nunca ninguém a conseguiu apanhar. Tinha tanto de medrosa
como de desastrada. Foi a Susan quem primeiro se tornou mulher, um ser puramente feminino. Foi ela quem derramou no meu rosto aquelas lágrimas escaldantes que tanto
têm de belo como de terrível; de tudo ou nada. Dado necessitarem estes de segurança, nasceu para ser adorada pelos poetas, pois trata-se de seres que gostam de quem
se sente a coser e diga: “Amo, odeio”; de quem não seja próspero nem se sinta confortável, mas que possua uma qualquer qualidade em sintonia com a elevada (se bem
que pouco simpática) beleza característica do estilo puro, a qual é particularmente admirada por aqueles que criam poesia. O pai dela percorria os quartos e descia
os corredores com uma camisa de dormir bastante larga e um par de chinelos velhos. Nas noites calmas, podia-se escutar claramente o ruído das quedas d'água que ficavam
a mais de uma milha de distância. O velho cão mal tinha forças para se pôr de pé. Para mais, ainda havia uma criada louca que não parava de rir e de fazer girar
a roda da máquina de costura.
Constatei o facto até mesmo em plena angústia, quando, torcendo o lenço entre as mãos, a Susan gritou: “Amo, odeio”.
Pensei: “Há uma criatura inútil a rir no sótão”, e este pequeno exemplo serve para mostrar o modo incompleto como mergulhamos nas nossas próprias experiências.
No limite de toda a agonia senta-se um qualquer sujeito que observa e aponta; que murmura coisas, exactamente do mesmo modo como me murmurou uma frase naquela manhã
de Verão, na casa onde o milho chega até à janela: “E foi assim que me dirigiu para aquilo que transcende as nossas capacidades; para o que é simbólico e assim talvez
que permanente, isto se houver alguma permanência no facto de comermos, dormirmos e respirarmos; como se houvesse algo de permanente nestas vidas tão animais, tão
espirituais e tumultuosas”.
O salgueiro crescia junto ao rio. Sentava-me na relva macia junto com o Larpent, o Neville, o Baker, o Romsey, o Hughes, o Percival e a Jinny. Através das
suas pequenas plumas manchadas de pequenos fios que ora eram verdes na Primavera ora alaranjados no Outono, via passar os barcos; via edifícios e mulheres decrépitas
a tentar andar depressa. Foram muitos os fósforos que enterrei no solo, todos eles destinados a marcar este ou aquele estádio do processo de compreensão (poderia
ter sido filosófico; científico; até mesmo pessoal). Enquanto isso, os limites da minha inteligência captavam todas as sensações, até mesmo as mais distantes; o
soar dos sinos; murmúrios gerais; figuras que se esbatiam; uma rapariga a andar de bicicleta que, e à medida que avançava, parecia levantar a ponta do véu que ocultava
todo o caos da vida existente para lá dos contornos dos meus amigos e do salgueiro.
Só a árvore resistia ao eterno fluxo de mudança. Pois o certo é que eu mandava; era Hamlet, era Shelley, era o herói (cujo nome já me esqueci) de um romance
de Dostoievsky; e, por muito incrível que pareça, cheguei mesmo a ser Napoleão. Claro que esta fase só durou um período lectivo. O certo é que, e na maior parte
do tempo, julgava ser Byron. Durante semanas a fio nada mais fiz senão andar pelos quartos a atirar luvas e casacos para as costas das cadeiras. Não parava de caminhar
para a estante para beber mais um gole de água da nascente. Assim, deixei cair todas as frases que possuía em alguém pouco apropriado – uma rapariga que já casou
e morreu –; em todos os livros, em todos os assentos colocados junto às janelas, se viam excertos das cartas que nunca cheguei a acabar e que tinham como destinatário
a mulher que me transformava em Byron. O certo é que é difícil acabar a escrita no estilo de outra pessoa. Chegava todo transpirado à casa dela; trocávamos juras.
Contudo, e dado não me encontrar suficientemente maduro para tamanha intensidade, acabei por me casar com outra pessoa. Mais uma vez, aqui devia haver música. Nada
que se comparasse ao canto de caça do Percival; mas sim qualquer coisa de doloroso, gutural, amargo, algo parecido com o canto da cotovia e que conseguisse substituir
estes escritos idiotas – demasiado evidentes! demasiado razoáveis! – através dos quais tento descrever o momento esvoaçante característico do primeiro amor. O dia
está coberto por uma película vermelha. Olhem bem para o mesmo quarto antes e depois de ela ter entrado. Olhem para os inocentes que, cá fora, vão seguindo o seu
caminho. Nada vêem nem escutam; contudo, prosseguem. Ao nos movermos nesta atmosfera brilhante e pegajosa, sentimo-nos conscientes de todos os movimentos – algo
adere, algo se cola à nossa mão, impedindo-nos de deixar cair o jornal. Existe ainda um ser esventado – colocado no exterior, posto a rodopiar, contorcendo-se em
torno de um galho. Segue-se então o trovão da mais completa indiferença; a luz do relâmpago. Assiste-se depois ao regresso de uma certa dose de irresponsabilidade;
certos campos dão a sensação de que ficarão verdes para sempre – por exemplo, aquele canteiro em Hampstead –; e todas as faces se iluminam, todos conspiram num burburinho
de alegre ternura; e depois aquele sentido místico de realização, ao que se segue o reverso da medalha – aquelas feridas provocadas por aguilhões negros e que se
sentem sempre que ela não vem. É então que nos ares se elevam toda a espécie de suspeitas; horror, horror, horror – mas qual a necessidade de elaborar dolorosamente
estas frases consecutivas quando aquilo que é realmente necessário nada tem de contínuo, assemelhando-se mais a um latido, a um gemido? E tudo para, anos mais tarde,
ver uma senhora de meia-idade a despir o casaco no restaurante., Mas o melhor será regressarmos. Vamos voltar a fingir que a vida é uma substância sólida, com a
forma de um globo, e que a podemos fazer girar por entre os dedos. Vamos fingir ser capazes de elaborar uma história simples e lógica, de forma a que, uma vez encerrado
um assunto – por exemplo, o amor – possamos avançar de forma ordenada para o ponto seguinte. Dizia eu que havia um salgueiro. Os seus ramos caídos e a sua casca
grossa e rugosa tinham o mesmo efeito daquilo que permanece fora das nossas ilusões e que não as pode parar, chegando mesmo a sofrer as influências destas por alguns
instantes, mas que permanece estável, no mesmo sítio, com a gravidade que falta às nossas vidas. Daí o comentário que produz; o padrão que apóia, e a razão pela
qual, à medida que fluímos e mudamos, nos parece medir e avaliar. Por exemplo, o Neville sentou-se ao meu lado, na relva. Mas, ao seguir-lhe o olhar através dos
ramos até este poisar numa barca onde se encontrava um jovem a comer uma banana, perguntou-me se as coisas podem ser assim tão claras. A cena recortava-se com tanta
intensidade e estava tão impregnada pela qualidade da sua visão, que durante alguns instantes também eu a consegui ver através dos ramos do salgueiro: a barca, as
bananas, o jovem. Só então se desvaneceu. A Rhoda aparecia sempre com ar de quem anda a vaguear. Considerava úteis todos os encontros que tivesse, desde os eruditos
de capa a esvoaçar, aos burros que andavam pelos campos. Que medo se pressentia, escondia e acabava por se transformar em chamas nas profundezas daqueles olhos cinzentos,
espantados, sonhadores? Apesar de cruéis e vingativos, não somos tão maus a esse ponto. Por certo que temos uma certa dose de bondade, ou seria impossível falar
de forma aberta como o faço com alguém que mal conheço. Na sua mente, o salgueiro crescia no limiar de um deserto onde pássaro algum cantava. Quando as olhava, as
folhas encarquilhavam, agonizando sempre que por elas passava. Os eléctricos e os autocarros rugiam ainda com mais força, passando por cima de pedras e seguindo
em frente a grande velocidade. Talvez que no seu deserto existisse uma coluna iluminada pelo sol, junto a um lago onde os animais selvagens se aproximam para beber.
Seguia-se então a Jinny. Era ela quem incendiava a árvore. Era como uma papoila, febril, dominada pelo desejo de beber a terra seca. Esguia, angulosa, sem nada ter
de impulsivo, aproximava-se sempre preparada. São tão poucas as chamas que percorrem a terra seca. Ela fazia dançar os salgueiros, mas não com a imaginação, pois
só via o que ali estava. Isto era uma árvore; aquilo um rio; era de tarde; estávamos ali; eu com um fato de sarja; ela vestida de verde. Não havia passado nem futuro;
apenas o momento condensado num anel luminoso; os nossos corpos; e o êxtase e o clímax inevitáveis., Sempre que se deitava na erva, o Louis estendia um impermeável
quadrado, tornando assim a sua presença notada. Tratava-se de algo formidável. Eu possuía a inteligência suficiente para saudar a sua integridade; a pesquisa que
levava a cabo com os dedos ossudos que, e devido às frieiras, era obrigado a enrolar em farrapos, em busca de um qualquer diamante formado pela verdade indissolúvel.
Enterrei caixas de fósforos a arder nos buraquinhos que se encontravam junto à relva que pisava. O seu sorriso e língua afiada reprovavam a minha indolência. A sua
imaginação sórdida fascinava-me. Os seus heróis eram chapéus de coco, e dizia querer trocar pianos por notas de dez libras. Os eléctricos gemiam e as fábricas exalavam
toda a espécie de fumos ácidos na paisagem que construía. Vagueava por ruas e cidades secundárias onde, no dia de Natal, as mulheres vagueiam, bêbedas e nuas. As
suas palavras eram como que disparadas do alto de uma torre; atingiam a água e faziam-na erguer-se. Descobriu uma palavra, apenas uma, para descrever a Lua. Foi
então que se levantou e partiu; todos se levantaram e partiram. Porém, parei, fitei as árvores, e, tal como acontecia no Outono quando olhava para os seus ramos
vermelhos e amarelos, formou-se um qualquer sedimento; eu mesmo me formei; caiu uma gota; eu mesmo caí – ou seja, acabara de emergir de uma experiência recém-completada.
Levantei-me e parti – eu, eu, eu; não Byron, Shelley ou Dostoievsky, mas sim eu, Bernard. Cheguei mesmo a repetir o meu nome uma ou duas vezes. Sempre a abanar
a bengala, dirigi-me a uma loja e comprei – não que goste de música – um quadro de Beethoven rodeado por uma moldura de prata. Não que goste de música, mas na altura
todos os vultos importantes da história, mestres e aventureiros, seres humanos magníficos, pareciam estar atrás de mim. Claro que eu era o herdeiro; o continuador;
a pessoa a quem por milagre haviam ordenado que seguisse em frente. Assim, sempre a abanar a bengala e com os olhos úmidos, não devido ao orgulho, note-se, mas antes
à humildade, lá fui descendo a rua. O primeiro bater de asas desaparecera, o mesmo se passando com o primeiro cântico e exclamação. Está na hora de entrar em casa,
numa casa seca, habitada, descomprometida, um local carregado de tradições, objectos, montanhas de lixo, e tesouros espalhados pelas mesas. Passei a frequentar o
alfaiate da família, que me lembrava o meu tio. As pessoas começaram a surgir em grandes quantidades, mas não de forma tão precisa como os primeiros rostos (o Neville,
o Louis, a Jinny, a Susan e a Rhoda), mas antes revelando possuírem contornos confusos. Não tinham feições, ou, quando as possuíam, estas mudavam com tanta rapidez
que era como se não as tivessem. E, cheio de desprezo e ao mesmo tempo sempre a corar, sempre em situações misturadas; tudo isto sem estar preparado para aceitar
os choques da vida, os quais acontecem sempre à mesma hora e em todos os locais. Que aborrecido! Que humilhante nunca se estar certo do que dizer a seguir, passar
por todos aqueles silêncios dolorosos, tão brilhantes como desertos secos onde todas as pedras são visíveis; e depois, claro, dizer o que não se devia ter dito e
aperceber-se da existência de um fio de sinceridade que de boa vontade qualquer um trocaria por dinheiro, mas que, pelo menos naquela festa, com a Jinny sentada
na sua cadeira dourada, era impossível fazê-lo. É então que, com um gesto grandioso, uma dama pronuncia as seguintes palavras: “Venha comigo”. Leva-nos para uma
alcova privada e concede-nos a honra da sua intimidade. Os apelidos transformam-se em nomes próprios; estes em alcunhas.
Qual o comportamento a seguir em relação à Índia, à Irlanda ou a Marrocos? São os cavaleiros idosos que respondem a esta questão à luz dos candelabros. Descobrimos
com bastante surpresa que possuímos informações a mais. Lá fora, forças indistintas rugem; cá dentro, somos muito íntimos, muito explícitos, possuímos a noção de
que é aqui, neste quartinho, que construímos um determinado dia da semana. Sexta ou sábado. Uma espécie de concha nacarada, brilhante, forma-se por sobre a alma,
e é contra ela que as sensações investem, se bem que em vão. No que me diz respeito, esta carapaça formou-se mais cedo do que na maior parte das pessoas. Enquanto
os outros preferiam comer bolos, eu já descascava a minha pera. Podia pronunciar qualquer frase no mais completo silêncio. É nesta fase que a perfeição tem o seu
fascínio. Imaginamos poder aprender castelhano se atarmos um fio ao dedo grande do pé direito e acordarmos cedo. Enchemos os pequenos compartimentos da agenda com
marcações para jantares às oito e almoços à uma e meia. Espalhamos camisas, meias e gravatas em cima da cama. Contudo, esta precisão externa, esta progressão militar
e ordeira, não passa de um engano, de uma conveniência, de uma mentira. Lá bem no fundo, mesmo quando chegamos à hora aprazada ao local combinado, de coletes brancos
e fazendo uso de todo o tipo de delicadezas formais, existe sempre uma corrente de sonhos destroçados, canções infantis, gritos que se elevam nas ruas, frases e
visões por concluir – ulmeiros e salgueiros, jardineiros a varrer e senhoras a escrever – corrente esta que não pára de subir e descer, mesmo quando conduzimos uma
senhora pela mão até à mesa. No preciso momento em que endireitamos a faca, são milhares os rostos que se agitam de um lado para o outro. Nada existe que possamos
apontar com a colher; nada que possamos chamar um acontecimento. Todavia, esta corrente é também ela viva e profunda. Nela submerso, parava a meio de duas garfadas
e fitava com toda a atenção uma jarra onde se encontrava uma flor vermelha, enquanto era como que iluminado por uma súbita revelação. Ou, ao descer o Strand, dizia:
“É esta frase que quero”, pois acabara de ver uma qualquer coisa fantasmagórica ave, pássaro ou nuvem, elevar-se e abarcar de uma vez por todas a ideia que até então
não parava de me atormentar, e atrás da qual me mantivera, mesmo quando olhava para as gravatas e outras coisas bonitas existentes nas montras. O vidro, o globo
da vida como alguém lhe chamou, longe de ser duro e frio, tem paredes feitas do mais fino ar. Se as apertarmos, rebentam. Seja qual for a frase que tiro deste caldeirão,
ela não passa de um conjunto de seis pequenos peixes que se deixaram apanhar, enquanto milhões de outros continuam a nadar e a saltar, fazendo com que o caldeirão
pareça um banho de prata incandescente, muito embora se escapem por entre os meus dedos. Há rostos que não cessam de aparecer, rostos e rostos – pressionam a sua
beleza contra as paredes da minha bolha. Trata-se do Neville, da Susan, do Louis, da Jinny, da Rhoda, e de mil outras pessoas. Tal como acontece com a música, é
impossível ordená-las de forma correcta, isolá-las umas das outras, ou conferir-lhes um efeito global. A sinfonia por elas construída é tão estranha, com as suas
concordâncias e discordâncias, as suas notas agudas e graves! Cada uma toca o seu instrumento: rabeca, flauta, clarim, percussão, e assim por diante. Com o Neville
discutia o Hamlet. Com o Louis, ciência. Com a Jinny, amor. Então, sem que nada o fizesse esperar, parti para Cumberland com um homem bastante pacato, disposto a
passar uma semana numa pousada onde a chuva não parava de bater contra as vidraças e ao jantar só se comia carneiro. Contudo, essa semana permanece um marco bastante
sólido num turbilhão de sensações não registradas. Foi aí que jogamos dominó; foi aí que discutimos a respeito da carne rija dos carneiros. Foi aí que passeamos
pelas charnecas. E uma menina, receosa de abrir a porta e entrar, entregou-me uma carta escrita em papel azul, através da qual fiquei a saber que a rapariga que
fizera de mim Byron casara com um rico proprietário rural, um homem de polainas e chicote, que durante o jantar discursava a respeito da melhor maneira de engordar
bois. Gritei tudo isto aos quatro ventos, olhei para as nuvens que não paravam de correr pelos céus, e senti o meu fracasso; o desejo de ser livre; de escapar; de
me prender; de ter um objectivo; de prosseguir; de ser o Louis; de ser eu mesmo; e saí para a rua sozinho, de impermeável vestido, e as montanhas eternas fizeram-me
sentir enjoado e nada sublime. Acabei por regressar, culpar a carne por tudo o que acontecera, fazer as malas e regressar à confusão; à tortura. Apesar de tudo,
a vida é agradável, tolera-se. À segunda, segue-se a terça e depois a quarta. A mente constrói anéis; a identidade torna-se mais robusta; a dor é absorvida no processo
de crescimento. Sempre a abrir-se e a fechar-se, zumbindo cada vez mais, a velocidade e a febre da juventude são aproveitadas para o trabalho, até o ser nada mais
parecer do que o mecanismo de um relógio. Com que velocidade a corrente segue de Janeiro a Dezembro! Somos arrastados por tudo aquilo que se nos tornou tão familiar
que não chega a projectar sombra. Flutuamos, flutuamos... Porém, e dado ter de saltar para te contar esta história, lá vou deixando ficar para trás este ponto ou
aquele, acabando por fazer a luz incidir num qualquer objecto perfeitamente vulgar – digamos, o atiçador e a tenaz – tal como o vi passado algum tempo, depois do
casamento da rapariga que me fazia sentir Byron, e agora, sob a influência de uma pessoa a quem chamarei a terceira Miss Jones. Trata-se da rapariga que usa um determinado
vestido quando espera alguém para jantar, que colhe uma certa rosa, que, no momento em que nos barbeamos, nos faz sentir que precisamos ter calma, pois estamos perante
um assunto de grande importância. É então que se pensa: “Como se comportará ela em relação às crianças?”. Reparamos que é um pouco desajeitada com o chapéu de chuva;
mas que se revelou ponderada quando a toupeira foi apanhada na armadilha; e, finalmente, que não tomaria o pequeno-almoço (pensava nos intermináveis pequenos-almoços
da vida de casado) num momento demasiado prosaico – ninguém que se sentasse frente a esta rapariga ficaria surpreendido por ver uma borboleta poisar no pão que se
encontrava na mesa. Para mais, inspirava-me o desejo de subir na vida; para mais, fez-me olhar com curiosidade para os rostos até então algo repulsivos dos bebés
recém-nascidos. E o pequeno bater compassado – tiquetaque, tiquetaque – do coração da mente ganhou um ritmo majestoso. Desci Oxford Street. “Somos os continuadores,
os herdeiros”, disse, lembrando-me dos meus filhos e filhas; e se se trata de um sentimento tão grandioso a ponto de se tornar absurdo e de o termos de ocultar saltando
para um eléctrico ou comprando o jornal da tarde, continua a contribuir bastante para o ardor com que apertamos os atacadores das botas e com que nos dirigimos aos
velhos amigos, agora ocupados com carreiras diferentes.
Louis, o habitante do sótão; Rhoda, a ninfa da fonte sempre úmida; ambos contradiziam tudo o que então considerava positivo; ambos me transmitiam a outra face
daquilo que me parecia tão evidente (o facto de nos casarmos, de nos tornarmos domesticados); e era por isso que os amava, lamentava e invejava profundamente o facto
de serem tão diferentes de mim. Tive em tempos um biógrafo. O indivíduo já morreu há muito, mas se ainda seguisse os meus passos com a mesma intensidade lisonjeira,
comentaria da seguinte maneira o que então aconteceu: “Por esta altura, Bernard contraiu matrimónio e comprou casa... Os amigos constatavam um aumento da sua necessidade
de estar em casa... O nascimento dos filhos explicou a vontade por ele demonstrada em aumentar os seus rendimentos”. Estamos em presença daquilo a que se chama estilo
biográfico, o qual nada mais é do que juntar estilhaços de coisas que nada têm a ver umas com as outras. Ao fim e ao cabo, não podemos encontrar defeitos neste tipo
de estilo se começamos as cartas com “Caro Senhor”, e as terminamos com “Atenciosamente”; não podemos desprezar estas frases dispostas como estradas romanas no tumulto
das nossas vidas, pois são elas que nos fazem andar ao ritmo das pessoas civilizadas; com o passo lento e comedido dos polícias, isto apesar de, ao mesmo tempo,
podermos estar a trautear os maiores disparates em voz baixa – “Escuta, escuta, os cães afinal sempre ladram”. “Vai-te embora, vai-te embora morte”, “Não me entregues
ao casamento das mentes verdadeiras”, e assim por diante. “Foi bem sucedido em termos profissionais... O tio deixou-lhe uma pequena soma de dinheiro” – é assim que
o biógrafo continua, e é assim que tem de o fazer, mesmo que de vez em quando se sinta tentado a brincar com todas estas frases. Mesmo assim, há que as dizer.
Transformei-me num determinado tipo de homens, percorrendo o caminho que me foi traçado na vida como alguns percorrem os carreiros existentes nos campos. As
botas que uso gastaram-se um pouco mais no lado esquerdo. Quando entro, procedem-se a determinados arranjos. “Cá está o Bernard!” As pessoas pronunciam esta frase
de forma tão diferente! Existem muitas salas, muitos Bernards. Havia aquele que era encantador mas fraco; o forte mas arrogante; o brilhante mas inexorável; o simpático
mas frio; o descuidado mas também – e era apenas preciso mudar para a outra sala – o aperaltado, o mundano, o demasiado bem vestido. Aquilo que eu representava para
mim mesmo era completamente diferente, nada tinha a ver com isto. Sinto-me inclinado para me ver com isto. Sinto-me inclinado para me ver melhor representado frente
ao cesto do pão, enquanto tomava o pequeno-almoço com a minha mulher, que, sendo agora casada comigo, deixara de ser a rapariga que usava uma certa rosa sempre que
esperava encontrar-se comigo. Tudo isto me dava a sensação de estar vivo, de existir no meio do nevoeiro, mais ou menos como um sapo que se oculta à sombra de uma
folha verde. “Passa-me...” dizia eu. Ela respondia “o leite”, ou dizia coisas como “a Mary está a chegar”... – palavras simples para aqueles que herdaram os despojos
de todas as eras, mas não quando ditas naquele contexto quotidiano, na maré cheia da vida, quando, à mesa do pequeno-almoço, nos sentíamos completos, inteiros. Músculos,
nervos, intestinos, vasos sanguíneos, tudo o que constituía o revestimento e a mola do nosso ser, o zumbido inconsciente do motor, bem assim como o dardo e o chicote
da língua, tudo isto funcionava de forma soberba. Abrindo, fechando; fechando, abrindo; comendo, bebendo; por vezes falando – todo o mecanismo parecia expandir-se
e contrair-se, semelhante à mola principal de um relógio. Pão torrado e manteiga, café e bacon, o The Times e as cartas – de súbito o telefone tocava com urgência
e eu levantava-me de propósito para o atender. Pegava no bucal preto. Repara na facilidade com que a minha mente se ajustava com vista a assimilar a mensagem – podia
ser (tem-se sempre destas fantasias) um convite para assumir o comando do império britânico; observava a minha compostura; reparava na vitalidade magnífica com que
os átomos da minha atenção se dispersavam, rodeavam o hiato, assimilavam a mensagem, se adaptavam ao novo estado de coisas, e, quando voltava a poisar o auscultador,
criavam então um mundo mais rico, forte e complicado, no qual era chamado a desempenhar o papel que me competia sem nunca duvidar de que era capaz de o fazer. Enfiando
o chapéu na cabeça, saía para um mundo habitado por multidões de homens e mulheres que também haviam enfiado os chapéus nas cabeças, e, sempre que nos encontrávamos
nos comboios e metropolitanos, trocávamos o olhar característico de adversários e camaradas que têm de enfrentar toda a espécie de dificuldades para atingir o mesmo
objectivo – ganhar a vida. A vida é agradável. A vida é boa. O simples processo segundo o qual decorre é satisfatório. Pensemos no cidadão comum e saudável. Trata-se
de alguém que gosta de comer e dormir.
Gosta de sentir o cheiro fresco do ar e de descer o Strand com um passo apressado. No campo, há um galo empoleirado num portão; há uma égua galopando num prado.
Há sempre algo que tem de ser feito a seguir. À segunda segue-se a terça, depois a quarta e a quinta. Cada dia espalha a mesma onda de bem-estar, repete a mesma
curva de ritmo; cobre a areia fresca com um arrepio, ou constrói uma pequena teia de espuma. E é assim que o ser começa a deixar crescer anéis; a identidade torna-se
mais robusta. Aquilo que antes era furtivo como um pequeno grão lançado ao ar e soprado de um lado para o outro pelas rajadas fortes da vida, passa a ser agora atirado
de forma metódica numa direcção precisa, obedecendo a um objectivo – pelo menos é o que parece. Meu Deus, que agradável! Meu Deus, que bom! Como é tolerável a vida
dos donos das pequenas lojas! Pelo menos, é essa a impressão com que fico à medida que o comboio vai atravessando os subúrbios e vejo as luzes que estão acesas nas
salas. Activos, enérgicos como formigas, dizia, quando à janela via os operários dirigirem-se para a cidade de lancheira na mão. Quanta dureza, energia e violência,
pensava, ao ver um grupo de homens de calções brancos correrem atrás de uma bola de futebol num campo cheio de neve, em pleno Janeiro. Muito embora me deixasse perturbar
por qualquer ninharia - podia ser a carne – parecia-me ser um enorme luxo deixar que uma pequena onda abalasse a enorme estabilidade e toda a felicidade da nossa
vida de casados, mais ainda quando o nosso filho estava prestes a nascer. Jantei rapidamente. Falei de forma pouco razoável, como se fosse milionário e me pudesse
dar ao luxo de esbanjar dinheiro; ou ainda, qual faz-tudo, tropeçasse de propósito. Quando íamos para a cama, resolvíamos as nossas questiúnculas nas escadas, e,
deixando-me ficar junto à janela a olhar para um céu tão límpido como o interior de uma pedra azul, dizia: “Deus seja louvado por não termos de transformar esta
prosa em poesia. Bastam-nos algumas palavras”. O espaço e a claridade da paisagem não ofereciam grandes impedimentos, permitindo-nos antes alargar as nossas vidas
para lá dos telhados e das chaminés, até atingirmos o limite imaculado. Foi contra este pano de fundo que a morte se abateu – a morte do Percival. “Qual o significado
da felicidade?”, (o nosso filho acabara de nascer), “qual o significado da dor?”, disse, à medida que descia as escadas e constatava um fenômeno puramente físico:
a divisão do meu corpo em duas partes iguais. Anotei também o estado da casa; o modo como a cortina ondulava; a cozinheira a cantar; o guarda-fatos aparecendo através
da porta entreaberta. Disse: “Dêem-lhe (a mim) um outro momento de descanso”. Ia a subir as escadas. “Agora, nesta sala, ele vai sofrer. Não há outra saída.” Todavia,
não há palavras que cheguem para definir a dor. Devia haver choros, gritos, fissuras, espaços em branco cobrindo as colchas de chita, interferências com o sentido
de tempo e espaço; a sensação de que os objectos em movimento haviam adquirido uma enorme fixidez; e toda a espécie de sons, ora distantes ora próximos; de carne
a ser rasgada e de sangue a escorrer, de uma articulação quebrando-se com violência – por baixo de tudo aparece agora algo muito importante, se bem que remoto, algo
que só a solidão pode manter. E lá continuei a existir. Vi a primeira manhã que ele nunca veria – os pardais lembravam brinquedos dispostos em cima de uma corda
puxada por crianças. Vejo as coisas com desprendimento, do lado de fora, e é tão estranho aperceber-me do quanto são belas em si mesmas! Segue-se a impressão de
que me tiraram um peso dos ombros; de que toda a irrealidade e faz-de-conta desapareceram, de que a suavidade chegou junto com uma espécie de transparência, tornando-nos
invisíveis e fazendo com que as coisas nos surjam frente aos olhos à medida que caminhamos – como tudo isto é estranho. “E agora, que outras descobertas nos restam?”
e, perguntei, para não perder a compostura, ignorei os títulos dos jornais prestando apenas atenção às imagens. Madonas e pilares, arcos e laranjeiras, tudo semelhante
ao que fora no dia da criação (se bem que tocado pelo desgosto), estava ali, à espera do meu olhar. “Aqui”, disse, “estamos juntos sem qualquer interrupção.” Esta
liberdade, esta exaltação, mexeram tanto comigo que, por vezes, ainda hoje lá vou, à procura do mesmo estado de espírito e também o Percival. Todavia, não durou
muito. O que nos atormenta é a terrível actividade do olho da mente – a forma como caiu, o aspecto que devia ter quando o transportaram, os homens com as ancas cobertas
por um pano que não paravam de puxar as cordas; as ligaduras e a lama. É então que surge aquela terrível garra da memória – que não o acompanhei a Hampton Court.
Trata-se de uma garra que arranha, de uma mandíbula que desfaz; não fui. Apesar de todos os protestos impacientes por ele apresentados de que não interessava; para
quê estragar e interromper o nosso momento de comunhão? Apesar da vergonha que sentia, não parava de repetir que não o acompanhara, e, expulso do santuário por estes
demônios diligentes, fui até à casa da Jinny porque ela tinha uma sala; uma sala cheia de pequenas mesas em cima das quais se encontrava toda a espécie de ornamentos.
Foi lá que, por entre lágrimas, confessei não ter ido a Hampton Court. E ela, por seu turno, lembrando-se de coisas que para mim não passavam de ninharias, mas que
tinham o poder de a torturar, revelou-me que a vida murcha sempre que existem factos que não podemos partilhar. Não demorou muito para que uma criada entrasse na
sala, transportando um bilhete, e, quando ela se virou para responder senti-me tomado por uma grande vontade de saber o que estaria ela a escrever e a quem a mensagem
se dirigia. Foi precisamente isto que me fez ver a primeira folha cair na campa do morto. Vi-nos ultrapassar este momento e deixá-lo a sós para sempre. E, sentados
lado a lado no sofá acabamos por nos lembrar do que já fora dito por outros; “os lírios são muito mais belos em Maio”; comparamos o Percival a um lírio – o Percival,
a quem eu queria ver cair o cabelo, chocar as autoridades, envelhecer junto comigo, estava agora coberto de lírios. E assim passou a serenidade do momento; e assim
ela se tornou simbólica; e foi exactamente isso que não consegui suportar. Gritei que o melhor seria cometer a blasfêmia de troçar e criticar, e tentar não o cobrir
com esta pasta adocicada, a cheirar a lírios. Acabei por partir e a Jinny, que não sabia o significado das palavras futuro ou especulação mas que respeitou o momento
com a maior das integridades, moveu o corpo como se este fosse um chicote, empoou o rosto (era isso que me fazia amá-la), e, já à porta, despediu-se de mim com um
aceno, enquanto levava a outra mão ao cabelo para que o vento não a despenteasse, gesto este que me levou a admirá-la ainda um pouco mais, como se fosse algo que
confirmasse a nossa determinação de não deixar crescer os lírios. Observei com uma clareza desiludida a falta de identidade da rua; as suas varandas e cortinas;
as roupas castanhas, a cupidez e a complacência das mulheres que trabalhavam nas lojas; os velhos passeando com as suas roupas de lã; a forma cautelosa como as pessoas
atravessavam a rua; a determinação universal de se continuar a viver quando a verdade é que, seus idiotas, uma qualquer telha vos podia cair em cima e este ou aquele
carro galgar o passeio, pois não existe qualquer espécie de lógica ou razão quando um homem embriagado caminha pela rua com um varapau na mão. Era como alguém a
quem deixaram ver a peça por detrás das cortinas do palco; como alguém a quem se mostra a forma como os efeitos são produzidos. No entanto, acabei por voltar a casa,
onde a criada me pediu para tirar os sapatos e subir a escada de meias. O bebê estava a dormir. Fui para o quarto. Não haveria então uma espada, qualquer coisa capaz
de destruir estas paredes, esta protecção, este gerar filhos e viver atrás de cortinas, envolvendo-nos cada vez mais com livros e quadros? O melhor seria seguir
o exemplo do Louis e consumir a vida na busca da perfeição; ou fazer como a Rhoda e passar por nós a voar, rumo ao deserto; ou, à semelhança do Neville, escolher
apenas uma pessoa de entre os milhões de indivíduos existentes; talvez fosse melhor ainda fazer como a Susan e tanto amar como odiar quer o sol quer a erva coberta
de geada; ou então ser como a Jinny, uma criatura honesta semelhante a um animal. Todos possuíam os seus êxtases, um fio que os ligava à morte; algo que os mantinha
de pé. E assim lá os ia visitando à vez, tentando com os dedos trêmulos abrir os cofres onde guardavam os tesouros. Visitava-os transportando nas mãos a mágoa que
sentia – não, não a mágoa, mas sim a natureza incompreensível desta nossa vida –, pedindo-lhes que a inspeccionassem. Há quem se vire para os padres, outros para
a poesia; eu virava-me para os amigos, para o meu coração, e procurava encontrar algo intacto entre as frases e os fragmentos – eu, para quem não existe beleza suficiente
na Lua e nas árvores; para quem basta o toque entre duas pessoas mas que nem sequer o soube aproveitar, eu que sou tão imperfeito, tão fraco, tão incrivelmente solitário.
E lá ficava eu sentado. Poderia ser este o fim da história? Uma espécie de suspiro? O último estremecer de uma onda? Um fio de água na sarjeta onde, borbulhando,
acaba por desaparecer? Deixem-me tocar na mesa – assim – para que possa recuperar o sentido do momento. Uma prateleira coberta por galheteiros; um cesto de pãezinhos;
um prato de bananas – trata-se de visões reconfortantes. Mas, e se não existem histórias, será que se pode falar em começo e fim? Talvez que a vida não responda
ao tratamento que lhe damos quando a seu respeito falamos. Ainda acordado mesmo quando a noite já vai alta, parece-me estranho não poder controlar mais as coisas.
É então que os ninhos dos pardais não são de grande utilidade. É estranho como a força se infiltra numa qualquer fenda seca. Sentado sem ter ninguém para me fazer
companhia, tenho a sensação de que estamos gastos; somos incapazes de avançar um pouco mais e umedecer a rocha. Acabou-se, chegamos ao fim. Mas espera – fiquei toda
a noite sentado, à espera – sinto de novo um impulso que nos percorre; levantamo-nos, afastamos uma crista de espuma branca; alcançamos a praia; não nos deixamos
limitar. Ou seja, lavei-me e fiz a barba; não acordei a minha mulher; tomei o pequeno-almoço; pus o chapéu e saí para ganhar a vida.
O certo é que às segundas se sucedem as terças. Contudo, restava ainda uma dúvida, uma nota interrogativa. Ao abrir a porta, surpreendi-me por ver os outros
ocupados; ao pegar na chávena de chá, hesitei antes de dizer se preferia com leite ou açúcar. E a luz que caía das estrelas (exactamente como agora o faz) e poisava
na minha mão depois de ter viajado durante milhões e milhões de anos, nada mais podia fazer do que me provocar um breve choque – o certo é que a minha imaginação
é demasiado fraca. Contudo, restava ainda uma dúvida. Uma sombra na minha mente lembrando o bicho do caruncho que se introduz na madeira. Por exemplo, quando nesse
mesmo ano fui visitar a Susan ao Lincolnshire e ela atravessou o jardim para me vir receber, movendo-se com os movimentos de uma vela semi-enfunada, com os movimentos
baloiçando-nos no jardim. As carroças subiam o caminho carregadas de feno; as gralhas e as pombas arrulhavam da forma que lhes é peculiar; a fruta fora coberta e
envolvida em redes; o jardineiro cavava. As abelhas zumbiam atrás dos carreiros vermelhos das flores; as abelhas mergulhavam nos escudos amarelos dos girassóis.
A relva estava coberta de pequenos galhos. Tratava-se de qualquer coisa de rítmico, semiconsciente, envolto em brumas. Todavia, e pela parte que me tocava, era horrível,
lembrava-me uma rede que cai sobre nós e nos tolhe os movimentos. Ela, que recusara o Percival, dera-se a isto, a este disfarce. Sentado num banco à espera do comboio,
pensei no quanto nos havíamos rendido, na forma como nos tínhamos submetido à estupidez da natureza. À minha frente viam-se bosques cobertos de folhas verdes. E,
devido a um qualquer odor ou som, a velha imagem regressava – os jardineiros a varrer e a dama sentada a escrever. Vi as figuras posicionadas junto às árvores, lá
em Elvedon. Os jardineiros varriam, a senhora sentada à mesa não parava de escrever. No entanto, agora posso juntar o contributo da maturidade às intuições infantis
– saturação e ruína; a sensação de que há sempre algo que não podemos ter; a morte; o conhecimento das nossas limitações; o saber o quanto a vida é mais dura do
que aquilo que havíamos pensado. Quando era criança, bastava-me sentir a presença de um inimigo para me sentir espicaçado. Levantava-me e gritava: “Vamos partir
à exploração.” E assim punha ponto final ao horror característico destas situações. E que situação havia ali para terminar? Saturação e ruína. E para explorar? Folhas
e árvores que nada tinham a esconder. Se uma ave levantava voo, não celebrava o facto fazendo um poema – repetia o que já antes vira. Assim, se tivesse um ponteiro
com que indicar as flutuações da curva da vida, indicava esta como sendo a mais baixa; é aqui que ela se enrola sem qualquer sentido na lama onde maré alguma chega
– aqui, no local onde me sento com as costas apoiadas à vedação, os olhos cobertos pela aba do chapéu, enquanto o rebanho lá vai avançando com aquele passo duro
e automático, característico das suas patas duras e finas. Mas, se afiarmos a lâmina romba de uma faca a uma pedra de amolar, algo se eleva: uma ponta de fogo. Assim,
a falta de razão e de destino, o quotidiano, tudo isto misturado produziu uma chama composta por dois factores: ódio e desprezo. Acabei por pegar na minha mente,
no meu ser, naquele objecto quase inanimado, e atirei-o contra todas aquelas pontas soltas, paus e palhas, despojos detestáveis de um naufrágio flutuando numa superfície
oleosa. Levantei-me de um salto. Gritei: “Luta! Luta!”. O único objectivo que nos mantém vivos é o esforço e a luta, o estado de guerra permanente, o destroçar e
voltar a unir – a batalha quotidiana, a derrota ou a vitória. As árvores, antes espalhadas, foram postas em ordem; o verde espesso das folhas transformou-se numa
luz bailarina. Prendi tudo isto com uma frase súbita. Arranquei tudo isto ao terror do que é informe apenas com o uso das palavras. O comboio chegou. Alongando-se
na plataforma, acabou por parar. Entrei nele. E estava de novo em Londres ao fim da tarde. Como me coube bem aquela atmosfera de senso comum e tabaco; de velhotas
sentadas nos compartimentos de terceira classe agarradas aos cestos; de fumadores de cachimbo de “boa noite e até amanhã” pronunciadas por amigos que se despediam
nas estações intermédias, e depois as luzes de Londres – nada que se comparasse ao êxtase da juventude, nada que se comparasse aos estandartes violeta de então,
mas mesmo assim as luzes de Londres; luzes eléctricas e duras elevando-se nos escritórios mais altos da cidade; candeeiros de iluminação pública espalhados pelos
pavimentos secos; chamas rugindo por sobre os mercados. Sinto sempre prazer em ver tudo isto depois de ter despachado um inimigo, nem que seja só por um momento.
Por exemplo, gosto de ver o espectáculo da vida quando vou ao teatro. Aqui, o animal pardo, indescritível, que antes vagueava pelos campos, ergue-se nas patas traseiras,
e, com uma grande dose de esforço e ingenuidade, ergue-se disposto a lutar contra os bosques e os campos verdes, e também contra os carneiros que, ruminando, avançam
a um ritmo regular. E, como não podia deixar de ser, grandes janelas cinzentas estavam iluminadas; rolos de passadeira cortavam o pavimento; era ali que se limpavam
e enfeitavam quartos, lareiras, alimentos, vinhos e conversas. Homens de mãos enrugadas e mulheres de brincos de pérolas não paravam de entrar e sair. Vi os rostos
dos homens repletos de rugas e esgares provocados pelo trabalho e pelo mundo; e a beleza, que de tão adorada sempre por florescer, mesmo na velhice; e a juventude,
tão apta para o prazer que este, pelo simples facto de nele se pensar, se vê obrigado a existir. Parecia que as colinas se precipitavam na sua direcção; e que o
mar o cortava em pequenas ondas; e que os bosques fervilhavam de aves coloridas apenas para a juventude, para a juventude expectante. Era lá que se podia encontrar
a Jinny e o Hal, o Tom e a Betty; era lá que contávamos as nossas piadas e partilhamos segredos; e nunca nos separávamos sem antes ter combinado um outro encontro
no lugar mais apropriado à ocasião e à altura do ano. A vida é agradável; a vida é boa. A terça sucede-se à segunda, e depois daquela vem a quarta. Sim, mas as coisas
começam a ser diferentes ao fim de um certo tempo. O facto pode ser-nos sugerido pelo aspecto de uma sala numa determinada noite, pelo modo como as cadeiras se dispõem.
Parece ser bastante confortável afundarmo-nos no sofá colocado a uma esquina, e olhar, escutar. É então que duas figuras de costas para a janela se recortam contra
os ramos de um salgueiro. Chocados, sentimos que se trata de pessoas cujos rostos não possuem qualquer beleza. Na pausa que se segue ao espalhar das ondas, a rapariga
com quem era suposto estarmos a falar diz para si mesma: “Ele é velho”. No entanto não podia estar mais enganada. Não se trata da idade; foi apenas uma gota que
caiu; mais uma. O tempo alterou as coisas outra vez. Lá vamos saindo do arco coberto de folhas, penetrando num mundo cada vez mais vasto. A verdadeira ordem das
coisas – e é esta a nossa ilusão eterna – é agora apenas aparente. Assim, num instante, numa sala de estar, a nossa vida ajusta-se à marcha pomposa de um dia percorrendo
o céu. Foi por isso que, ao invés de pegar nos meus sapatos de pele e de descobrir uma gravata tolerável, fui procurar o Neville. Procurei o mais antigo dos meus
amigos, aquele que me conhecia desde os tempos em que eu era Byron, um dos discípulos de Meredith, e também o herói de um livro de Dostoievsky, cujo nome já me esqueci.
Fui encontrá-lo só, a ler. A mesa perfeitamente arrumada; a cortina corrida de forma metódica; uma faca de cortar papel separando as páginas de um livro em francês
– só então me apercebi de que ninguém altera nem as roupas nem as atitudes pelas quais os conhecemos. Lá estava ele sentado na mesma cadeira, vestindo a mesma roupa,
igualzinho ao que fora no dia em que o conheci. Reinava ali a liberdade, a intimidade; o lume da lareira quase fazia explodir as maçãs das cortinas. Ficamos aIi
muito tempo sentados a conversar. Acabamos por descer a avenida, a avenida que se oculta por baixo das árvores, por baixo das árvores de folhas pesadas e sussurrantes,
as árvores que estão repletas de frutos. Trata-se da avenida que tantas vezes percorremos juntos, de forma que já não existe erva em torno de algumas árvores, em
torno de algumas peças e poemas (os que nos eram mais queridos) – já que não existe erva porque a gastamos com os nossos passos. Leio sempre que tenho de esperar;
se acordo durante a noite, procuro um livro na prateleira. A inchar, sempre a aumentar de volume, tenho a cabeça cheia de ideias nunca antes registradas. Por vezes,
recito uma passagem. Talvez se trate de Shakespeare, talvez de uma velha mulher chamada Peck. A fumar um cigarro enquanto estou deitado na cama, digo de mim para
mim: “Isto é Shakespeare. Aquilo é Peck”. Pronuncio estas palavras com a certeza característica do reconhecimento, junto com o choque sempre agradável do conhecimento,
muito embora nada disto possa ser totalmente partilhado. E lá vamos comparando as nossas versões de Shakespeare e Peck, permitindo que as opiniões que perfilhamos
nos ajudem a esclarecer alguns pontos obscuros das versões alheias; acabando por mergulhar num daqueles silêncios que só muito raramente são quebrados por algumas
palavras, como se uma barbatana se elevasse para quebrar o silêncio; depois do que a barbatana (o pensamento) regressa às profundezas, provocando em seu redor uma
onda de satisfação, de contentamento. Sim, mas de súbito escutamos o tiquetaque de um relógio. Nós, que antes tínhamos estado imersos neste mundo, apercebemo-nos
da existência de outro. É doloroso. Foi o Neville quem alterou o nosso tempo. Ele, que pensara com o tempo ilimitado do espírito, o qual se estende como um relâmpago
desde Shakespeare até nós, atiçou o lume e começou a viver de acordo com aquele relógio que marca a aproximação de uma determinada pessoa. Contraiu-se o balançar
vasto e digno da sua mente. Pôs-se em guarda. Sentia-o escutar o ruído das ruas. Reparei na forma como tocava na almofada. De entre a vastidão de todos os seres
humanos existentes e de todo o passado, escolhera uma única pessoa. Escutou-se um ruído na entrada. Aquilo que ele estava a dizer ficou a pairar no ar como uma chama
pouco à vontade. Fiquei a vê-lo avançar passo a passo, esperar por um certo sinal de identificação e olhar para o puxador da porta com a rapidez de uma cobra. (Compreendi
então o que fazia com que as suas sensações fossem tão agudas – fora sempre treinado pela mesma pessoa.) Uma paixão tão concentrada só podia expulsar todos os que
lhe eram estranhos, mais ou menos como os fluidos cintilantes fazem com todo e qualquer tipo de massa que não os integre. Apercebi-me do quanto a minha natureza,
repleta de sedimentos e dúvidas, repleta de frases e agendas recheadas de apontamentos, era vaga e enevoada. As dobras do cortinado imobilizaram-se; o pisa-papéis
que estava em cima de uma mesa tornou-se mais pesado; a trama das cortinas faiscou; tudo se tornou definido, externo, uma cena à qual eu não pertencia. Sendo assim,
levantei-me e deixei-o. Meu Deus, de que modo as mandíbulas e aquela dor antiga se apossaram de mim assim que abandonei a sala! o desejo de ver uma pessoa que não
estava ali. Quem? A princípio não o soube, depois lembrei-me do Percival. Há meses que não pensava nele. Era tão bom que pudesse estar ali com ele, a descer a rua
de braço dado e a rir às gargalhadas, troçando do Neville.
Mas ele não estava. O seu lugar era um buraco vazio. É tão estranho o modo como os mortos nos assaltam ao virar da esquina, nos sonhos! Este vento cortante
e frio fez-me percorrer Londres durante toda a noite à procura de outros amigos, por exemplo, o Louis e a Rhoda, pois outra coisa não desejava para além de companhia,
certezas, contacto. Enquanto subia as escadas interroguei-me sobre o funcionamento da sua relação. Que diriam quando se encontravam a sós? Imaginava-a pouco à vontade
com a chaleira na mão. Via-a deixar espraiar o olhar por sobre os telhados – ela, a ninfa da fonte sempre úmida, obcecada com visões, a sonhar. Via-a afastar a cortina.
“Fora!” disse. “O pântano junto à Lua está muito escuro.” Toquei, fiquei à espera. O Louis talvez estivesse a encher de leite o prato do gato; o Louis e as suas
mãos ossudas semelhantes às margens de uma doca que a muito custo comprime o tumulto das águas, sabia tudo o que os egípcios e os indianos haviam dito; sabia todas
as palavras pronunciadas por todos aqueles homens de malares subidos e turbantes enfeitados de jóias. Bati, esperei; não houve qualquer resposta. Voltei a descer
as escadas. Os nossos amigos – tão distantes, tão silenciosos, a quem tão pouco visitamos e dos quais quase nada sabemos. Claro que também sou vago e desconhecido
aos olhos dos meus amigos, um fantasma, algo que só raramente se vê. A vida só pode ser um sonho. A nossa chama, a chispazinha que dança em alguns olhos, não tarda
a se apagar. Lembrei-me dos amigos.
Pensei na Susan. Ela comprara terra. Nas suas estufas amadureciam pepinos e tomates. No vinhedo que a geada de há dois anos destruíra, cresciam agora uma ou
duas folhas. Rodeada pelos filhos, percorria os campos com um andar pesado. Andava por ali rodeada de homens calçados com polainas, e ao mesmo tempo apontava com
a bengala para um telhado, para as vedações, para os muros a ameaçar ruína. Os pardais seguiam-na, desejosos de apanhar uma ou outra semente que se escapava por
entre os seus dedos robustos, capazes. “Mas já deixei de me levantar de madrugada”, disse ela. Seguiu-se então a Jinny – sem dúvida que acompanhada por um qualquer
jovem. Por certo, teriam chegado ao momento de crise que costuma ocorrer em todas as conversas. A sala estava propositadamente escurecida; as cadeiras dispostas
com precisão. O certo é que ela ainda procurava o momento. Sem ilusões, dura e límpida como o cristal, cavalgava em plena luz do dia com o peito a descoberto. Deixava
que os espigões a espetassem. Quando o calor do ferro em brasa que lhe ardia na testa se tornava insuportável, não sentia qualquer espécie de medo. Só assim podia
ter a certeza de que tudo estaria em ordem quando a fossem buscar para o enterro. As fitas seriam encontradas no lugar certo. Ainda assim, a porta continua a abrir-se.
“Quem é?”, pergunta, ao mesmo tempo que se levanta para o receber. Está tão preparada como naquelas primeiras noites de Primavera, quando as árvores em frente às
casas onde os respeitáveis cidadãos londrinos se deitavam com toda a sobriedade mal conseguiam ocultar o seu amor; e o chiar dos eléctricos se misturava com o grito
de prazer que emitia, e o ondular das folhas disfarçava o seu langor, a deliciosa lassidão com que se afundava, refrescada por toda a doçura da natureza satisfeita.
É certo que quase nunca visitamos os amigos e pouco sabemos a seu respeito. Contudo, quando encontro um desconhecido e lhe tento contar “a minha vida” – como faço
neste momento – não me limito a recordar apenas uma vida. Não sou apenas uma pessoa; sou muitas; ao fim e ao cabo, não sei quem sou – se a Jinny, se a Susan, o Neville,
a Rhoda, ou o Louis. Para mais, sinto-me incapaz de distinguir a minha vida das que eles viveram. Foi isso que pensei naquela noite outonal em que nos juntamos para
mais um jantar em Hampton Court. A princípio era visível que não nos sentíamos à vontade, pois todos tínhamos os nossos compromissos, e as outras pessoas que subiam
o caminho vestidas desta ou daquela maneira, com bengala ou sem ela, pareciam contrariá-los. Vi o modo como a Jinny olhava para os dedos grosseiros da Susan e depois
ocultava os seus; eu, pelo menos quando comparado com o Neville, tão arrumado e organizado, sentia o quanto a minha vida era um amontoado de frases. Foi então que
ele se começou a exibir, pois sentia vergonha de uma sala, de uma pessoa, do seu próprio sucesso. O Louis e a Rhoda, os conspiradores, os espiões sentados à nossa
mesa, diziam: “Ao fim e ao cabo, o Bernard consegue que o criado nos venha trazer pães – uma forma de contacto que nos é negada”. Por breves instantes, vimos à nossa
frente o corpo daquele ser humano completo que nunca chegamos a ser, mas que, e ao mesmo tempo, somos incapazes de esquecer. Vimos tudo aquilo que poderíamos ter
sido; tudo o que perdemos; e por breves instantes ressentimo-nos das pretensões dos outros, quais crianças que, ao verem partir o único bolo que existe, sentem que
a parte que lhes foi destinada é a mais pequena. No entanto, tínhamos uma garrafa de vinho, e, assim seduzidos, esquecemos as inimizades e paramos de fazer comparações.
E, sensivelmente a meio da refeição, sentimos a escuridão alastrar à nossa volta, a consciência do que não éramos.
O vento, o barulho das rodas, tudo se transformou no rugir do tempo, e precipitamo-nos – para onde? Quem somos nós? Extinguimo-nos por um momento, elevamo-nos
como faúlhas saltando de um pedaço de papel queimado, e o negrume rugiu. Fomos além do tempo, além da história. Para mim, trata-se de algo que dura apenas um segundo,
terminando devido à minha pugnacidade. Bato na mesa com a colher. Se pudesse medir as coisas com compassos por certo que o faria, mas, dado que a minha medida são
as frases, lá as vou construindo. Éramos seis pessoas sentadas a uma mesa em Hampton Court. Levantamo-nos e descemos juntos a avenida. À luz vaga e irreal da madrugada,
caprichosa com o som de vozes ecoando ao longo de uma galeria, recuperei a genialidade. Recortando-se contra o portão, contra um qualquer cedro, vejo os contornos
brilhantes do Neville, da Jinny, da Rhoda, do Louis, da Susan, e também de mim mesmo. Vejo a nossa vida, a nossa identidade.
Apesar de tudo, o rei Guilherme continuava a ser irreal, com uma coroa feita de lata. Mas nós – encostados aos tijolos, aos ramos, nós os seis, sobressaindo
de entre milhões de seres humanos, ardíamos em triunfo, saindo da abundância comedida do passado e do futuro. O momento era tudo, o momento bastava. Foi então que
o Neville e a Jinny, a Susan e eu, semelhantes a uma onda que se quebra, nos separamos, nos rendemos – à folha seguinte, a uma determinada ave, a uma criança com
um arco, ao valor que fica armazenado nos bosques depois de um dia de sol, às luzes que se contorcem como fitas brancas em águas agitadas. Separamo-nos; consumimo-nos
na escuridão das árvores, deixando ficar a Rhoda e o Louis no terraço, junto à urna. Quando emergimos daquele banho – que doce, que profundo! – e vimos que os conspiradores
ainda ali se encontravam, não ficamos muito satisfeitos. Perdêramos o que eles ainda possuíam. Havíamos interrompido algo. Contudo, estávamos cansados e, quer tivesse
sido bom ou mau, consumido ou deixado por concluir, um véu cinzento caía sobre os nossos esforços; quando paramos por alguns instantes no terraço que dava para o
rio, vimos que as luzes se iam afundando. Os barcos a vapor despejavam os passageiros na margem. Ouviu-se uma saudação distante, o som de cânticos, tal como se as
pessoas abanassem os chapéus e entoassem em coro a mesma canção. O ruído das vozes atravessou o rio e senti em mim o velho impulso que me moveu durante toda a vida:
o de me deixar vogar ao som das vozes dos outros entoando a mesma melodia; o de ser atirado para cima e para baixo de acordo com uma alegria, um sentimento, um triunfo
e um desejo quase que despojados de sentido. Mas não agora. Não! Não me podia organizar; não me podia aperceber de mim mesmo; não me podia dar ao luxo de deixar
cair na água tudo o que até há um minuto atrás me fizera sentir ansioso, divertido, ciumento, vigilante, e muitas outras coisas mais. Sentia-me incapaz de recuperar
de todo aquele desperdício, dissipação, o vogar à tona nas águas contra a nossa vontade, afastando-nos silenciosamente por entre os arcos da ponte, girando em torno
de um amontoado de árvores ou de uma olha, lá, onde as aves marinhas descansam no cimo de estacas, por sobre as águas revoltas que no mar acabam por se transformar
em ondas – não consegui recuperar desta dissolução. E lá acabamos por nos separar. Seria então aquela mistura com os outros, com a Susan, a Jinny, a Rhoda, o Louis
e o Neville, uma espécie de morte? Uma nova disposição dos elementos? Um qualquer sinal do que se viria a passar? Fechei o livro depois de ter tomado nota do facto,
pois o certo é que sou um aluno intermitente. Na hora certa, não há maneira de saber a lição. Mais tarde, quando descia Fleet Street durante a hora de ponta, lembrei-me
do que se passara e resolvi dar-lhe continuidade. Pensei: “Será que devo continuar a bater com a colher no tampo da mesa? Não faria melhor se cedesse um pouco, aliás,
como todos os outros fazem?”. Os autocarros estavam apinhados; sucediam-se ininterruptamente e paravam com um estalido, como se cada um deles fosse um elo numa corrente
de pedra. As pessoas continuavam a andar. Eram multidões transportando pastas as que se moviam com a rapidez de um rio aquando da altura das cheias. O ruído por
elas provocado era semelhante ao rugir de um comboio num túnel. Aproveitando uma oportunidade, atravessei; mergulhei numa passagem escura e entrei no local onde
costumava cortar o cabelo. Recostei a cabeça e colocaram-me uma toalha em volta do pescoço. Havia espelhos por toda a parte e neles via reflectir-se o meu corpo
atado e as pessoas que passavam, ora parando ora olhando, acabando por se afastar, indiferentes. O barbeiro começou a mover a tesoura para a frente e para trás.
Sentia-me impotente para parar as oscilações produzidas pelo aço frio. Disse para comigo que era assim que somos ceifados e dispostos em feixes; ficando deitados
lado a lado nos prados úmidos – ramos murchos e hastes em flor. Deixamos de ter necessidade de nos expor ao vento e à neve; de nos mantermos direitos quando a tempestade
se abate sobre nós; de carregar nos ombros o fardo que nos compete; ou de permanecer calados nos dias de Inverno, quando as aves se encostam ao tronco e a umidade
cobre as folhas de branco. Somos cortados; caímos. Tornamo-nos parte daquele universo oculto que dorme quando estamos ocupados e vai ao rubro quando dormimos. Renunciamos
ao nosso tempo, e agora jazemos no chão, murchos e prestes a ser esquecidos! Foi então que reparei que o barbeiro olhava para a rua como se lá fora houvesse algo
que o interessasse. O que lhe teria chamado a atenção? Que teria ele visto na rua? É este tipo de coisas que me desperta. (Dado não ser místico, tem de haver sempre
algo a me espicaçar – curiosidade, inveja, admiração, interesse pelo barbeiro.) Enquanto o homem escovava o meu casaco, eu sofria a bom sofrer para me assegurar
da sua identidade, e então, a baloiçar a bengala, fui até ao Strand, e, como que para me servir do pólo oposto, evoquei a imagem da Rhoda, sempre tão furtiva, sempre
com o medo reflectido nos olhos, sempre à procura de uma coluna no deserto. Acabei por descobrir que ela partira; que se suicidara. “Espera”, disse, imaginando (é
assim que comunicamos com os amigos) que lhe segurava o braço. “Espera até os autocarros passarem. Não atravesses dessa forma tão perigosa. Estes homens são teus
irmãos.” Ao tentar persuadi-la estou a tentar persuadir a minha própria alma. Pois o certo é que a vida não é só uma; nem sempre sei se sou homem ou mulher, se me
chamo Bernard, Neville, Louis, Susan, Jinny ou Rhoda – tão estranho é o contacto que mantemos uns com os outros. A abanar a bengala, com o cabelo acabado de cortar
e a nuca a arder, passei por todos aqueles tabuleiros de bonecos baratos importados da Alemanha, os quais são vendidos na rua, perto de St. Paul – St. Paul, a galinha
de asas abertas de onde, à hora de ponta, saem autocarros e rios compostos por homens e mulheres.
Imaginei o modo como o Louis subiria aqueles degraus, ele e o seu fatinho engomado, a bengala, e aquele porte sobranceiro. Com o seu sotaque australiano (“O
meu pai, um banqueiro de Brisbane”) o certo é que ele demonstraria possuir um respeito muito maior que o meu por todas estas cerimônias antigas, eu, que ouço as
mesmas canções de embalar há mais de um milhar de anos. Sempre que entro, deixo-me impressionar pelos rostos bem esfregados e bronzes polidos; pela música e pelos
cânticos, pela voz de rapaz que se eleva nos ares como se de uma pomba perdida se tratasse. A paz dos mortos impressiona-me – trata-se de guerreiros repousando à
sombra dos seus velhos estandartes. É então que me dá para zombar dos arabescos absurdos de um túmulo qualquer, bem assim como das trombetas, vitórias e armaduras,
já para não falarmos da certeza, tão sonoramente repetida, da ressurreição e da vida eterna. O meu olhar ocioso e inquiridor mostra-me então uma criança dominada
pelo medo; um reformado que caminha com dificuldade; ou as genuflexões das caixeirinhas que, esmagadas pelo peso de sabe-se lá que sofrimento, vieram aqui procurar
algum consolo.
Olho e interrogo-me, e, por vezes, um pouco às escondidas, tento servir-me das orações alheias para ultrapassar a cúpula e acompanhá-las ainda mais, além,
seja lá para onde elas forem. É então que, à semelhança daquela pomba perdida, vejo-me esvoaçar, perder altura, e acabar por cair em cima de uma qualquer gárgula,
num qualquer nariz partido ou numa tumba ridícula, tudo isto sem perder o sentido de humor e espanto. Volto então a ver os que por ali andam empunhando os roteiros,
enquanto a voz do rapaz acaba por azedar, e o órgão de vez em quando deixa escapar uma nota demasiado aguda, demasiado triunfal. Nesse caso, perguntei, como nos
conseguiria o Louis encerrar a todos aqui dentro? Como nos conseguiria ele comprimir, transformando-nos num único ser, servindo-se para isso de um frasco de tinta
vermelha e de um aparo de excelente qualidade? A voz como que se escapou pela cúpula, a gemer.
Voltei à rua a abanar a bengala e a olhar para os expositores de metal das vitrinas, para os cestos de frutas oriundas das colônias, e a murmurar disparates
do estilo: “Escutar, escutar, ouvir os cães a ladrar” ou “A idade de ouro do mundo está prestes a começar” ou “Vem, vem, morte” – misturando parvoíces com poesia,
flutuando na corrente. Há sempre uma qualquer coisa que tem de ser feita a seguir. Depois da segunda vem a terça, depois a quarta e a quinta. Cada dia espalha a
mesma onda. O ser começa a criar anéis. É como se fosse uma árvore.
E, tal como acontece com estas, as suas folhas também caem. O certo é que, certo dia, quando me encostei a um portão que dava para um campo, o ritmo parou,
o mesmo se passando com as rimas e as canções, os disparates e a poesia. Criou-se um espaço vazio na mente. Vi através das folhas espessas do hábito.
Encostado ao portão, lamentei a existência de tantas ninharias, de tantas coisas que ficaram por fazer, do facto de a vida estar cheia de compromissos, nos
impedir de atravessar Londres para visitar um amigo, ou de apanhar um navio, rumo à Índia e ver um homem nu arpoando os peixes que vivem nas águas azuis. Disse que
a vida fora imperfeita, uma espécie de frase por terminar. Fora-me impossível (pois não é verdade que aceito partilhar o tabaco que qualquer caixeiro-viajante me
oferece no comboio?) ser coerente – manter o sentido das gerações que se sucedem, das mulheres que transportam ânforas vermelhas até ao rio Nilo, do rouxinol que
canta entre conquistas e migrações. Comentei que o empreendimento fora demasiado grande, e isso impossibilitava-me de continuar a levantar os pés de forma a conseguir
subir a escada. Falei comigo mesmo do mesmo modo que o teria feito em relação a um companheiro com quem viajasse rumo ao pólo Norte. Falei com aquele “eu” que me
tem acompanhado em tantas e incríveis aventuras; o homem fiel que se senta junto à lareira a atiçar o lume quando já todos se foram deitar; o homem que se foi formando
de forma tão misteriosa através de súbitos acréscimos do ser, ora junto a um salgueiro na margem de um rio ora encostado a um parapeito em Hampton Court; o homem
que se uniu em momento de urgência e bateu com a colher na mesa, ao mesmo tempo que dizia: “Tal não consentirei!”. Inclinado por sobre aquele portão que dava para
uma série de prados onde as cores ondulavam, este ser não me respondeu. Não me ofereceu oposição. Não tentou construir qualquer frase. Nem sequer cerrou os punhos.
Esperei. Escutei. Nada surgiu, nada. Possuído pela sensação de ter sido abandonado, soltei um grito. Agora, nada mais existe. Não há barbatana que quebre a fixidez
deste mar imenso. A vida destruiu-me. As palavras que digo já não têm qualquer eco. De facto, trata-se de uma morte bem mais verdadeira que a dos amigos, que a da
juventude. Sou a figura enfaixada de barbearia, e ocupo pouquíssimo espaço. A cena que se estendia a meus pés como que secou. Foi como um eclipse, como se o Sol
se tivesse ido embora e deixasse a terra, antes resplandecente de folhagem verde, seca, murcha. Para mais, vi que na estrada poeirenta o vento fazia dançar os grupos
que antes formávamos, a forma como se juntavam, comiam junto, se encontravam nesta ou naquela sala. Vi a minha própria diligência infatigável – o modo como corria,
daqui para ali, pegava e transportava, viajava e regressava, me juntava a este grupo e depois àquele, aqui beijando, ali partindo; sempre em movimento devido a um
qualquer objectivo extraordinário, com o nariz colado ao chão como um cão farejando um odor; por vezes, virando a cabeça, por vezes soltando um grito de espanto
ou desespero, tudo para voltar a poisar o nariz no trilho. Que desordem – que confusão; aqui com um nascimento; ali com uma morte; suculência e doçura; esforço e
angústia; e eu sempre a correr de um lado para o outro. Finalmente, tudo terminara. Já não tinha mais apetites para saciar; não mais ferrões com os quais podia envenenar
as pessoas; sem dentes nem garras afiadas, sem o desejo de sentir o formato das uvas e das pêras, e de ver o sol bater nos muros do pomar. Os bosques desapareceram;
a terra nada mais era que um nevoeiro de sombras. Som algum quebrava o silêncio da paisagem invernosa. Galo algum cantava; o fumo deixara de subir nos ares; os comboios
estavam parados. “Um homem sem eu”, disse. Um corpo pesado encostado a um portão. Um homem morto. Com um desespero apaixonado, com a maior das desilusões, examinei
a dança do pó; a minha vida, a vida dos meus amigos, e ainda as presenças fabulosas de homens com vassouras, mulheres a escrever, o salgueiro junto ao rio – nuvens
e fantasmas também eles feitos de pó, de um pó sempre em mudança, mais ou menos como as nuvens se unem e afastam, adquirem reflexos dourados e vermelhos, e perdem
os contornos inclinando-se nesta ou naquela direcção, volúveis, fúteis. Eu, agarrado ao bloco de apontamentos, sempre a construir frases, limitara-me a registrar
simples mudanças; uma sombra. Mostrara-me pronto a registrar sombras. Perguntei-me como iria continuar sem “eu”, sem peso e sem visão, através de um mundo sem peso
e sem ilusões. O peso do meu desânimo abriu a porta onde me apoiava e empurrou-me, a mim, um homem de idade cheio de cabelos brancos e bastante pesado, em direcção
a um campo vazio, sem qualquer cor.
O objectivo desta viagem não era ouvir ecos, ver fantasmas, chamar opositores, mas apenas caminhar sem ter qualquer sombra a me encobrir, não deixando marcas
na terra morta. Se ao menos ali houvesse um carneiro a ruminar, a arrastar uma pata atrás da outra, um pássaro ou um homem enterrando uma pá no solo, se ao menos
ali houvesse um espinheiro para me prender, ou uma fossa repleta de folhas úmidas onde pudesse cair – mas não, o carreiro melancólico não possuía qualquer desnível,
seguindo sempre através da mesma paisagem invernosa, pálida, e sem qualquer interesse. Assim sendo, como é que a luz regressa ao mundo depois de um eclipse solar?
Por milagre. Aos poucos. Em faixas muito estreitas. O outro fica suspenso como se fosse uma redoma de vidro. É um círculo que qualquer pequeno toque pode quebrar.
Surge ali uma pequena cintilação, de pronto abafada por um qualquer tom pálido. Segue-se um vapor, como se a terra estivesse a respirar pela primeira vez. Então,
no meio de toda aquela melancolia, alguém caminha envolto numa luz verde. Adeus fantasma branco! Os bosques são percorridos por frêmitos azuis e verdes, e, aos poucos,
os campos ficam inundados de vermelhos, dourados e castanhos. De súbito, há uma luz azul que se eleva das margens do rio. A terra absorve a cor como se de uma esponja
a beber água devagar se tratasse. Ganha peso; arredonda-se; fica como que pendurada; assenta e baloiça suavemente a nossos pés. E assim a paisagem acabou por me
ser devolvida; vi os campos serem submersos por ondas de cor, mas desta feita com uma diferença: via mas não era visto. Caminhava a descoberto; nada me denunciava.
Deixara cair a velha capa, as velhas réplicas, a mão oca que produzia sons. Esguio como um fantasma, sem deixar marcas no solo por onde caminhava, apenas me apercebendo
das coisas, percorria sozinho um mundo nunca antes percorrido; roçando flores desconhecidas; incapaz de articular qualquer outra palavra para além dos monossílabos
próprios das crianças; sem o abrigo das frases – eu, que tantas construí sem qualquer companhia, eu, sempre rodeado de colegas; solitário, eu, que sempre tive alguém
com quem partilhar a grade vazia ou o armário com o seu puxador dourado. Mas como descrever um mundo que é visto sem um “eu”? Não existem palavras. Azul, vermelho
– até mesmo eles distraem, até mesmo eles impedem a passagem da luz.
Como voltar a descrever ou a dizer qualquer coisa servindo-me de palavras artificiais? – excepto aquilo que se esbate, aquilo que sofre uma transformação gradual,
acabando por se transformar, mesmo no decorrer deste curto passeio. A cegueira regressa à medida que as folhas se vão repetindo. A ternura regressa à medida que
olhamos, e com ela todo um comboio de frases-fantasmas. Respira-se cada vez com mais facilidade; lá em baixo, no vale, o comboio atravessa os campos envoltos em
fumo. Todavia, houve uma altura em que me sentei na relva num qualquer ponto acima do nível do mar e do som dos bosques, e vi a casa, o jardim, as ondas a se desfazerem.
A velha ama que virava as páginas do livro de gravuras parou e disse: “Olha. Isto é verdade”. E assim pensava eu esta noite, ao descer Shaftesbury Avenue. Pensava
naquela página do livro de gravuras. Foi então que te encontrei no sítio onde se vai pendurar o casaco e disse para comigo: “Não interessa quem se conhece. Esta
história de ser já terminou. Não sei de quem se trata nem me interessa saber; jantaremos juntos”. Foi então que pendurei o casaco, te dei uma pancadinha no ombro
e disse: “Anda, vem sentar-te junto a mim”. A refeição já terminou; estamos rodeados de cascas e côdeas.
Tentei quebrar este ramo e oferecer-to, mas não faço a mínima ideia se nele existe alguma verdade ou conteúdo. Para falar com franqueza, nem sei muito bem
onde nos encontramos. Que cidade contemplará aquele pedaço de céu? Será Paris, Londres, ou antes uma cidade do Sul, repleta de casas de um rosa desmaiado colocadas
à sombra dos ciprestes e de altas montanhas sobrevoadas por águias? De momento, não tenho a certeza. Começo agora a esquecer; começo a duvidar da rigidez das mesas,
da realidade do aqui e agora, e a bater com os nós dos dedos nos contornos dos objectos aparentemente sólidos, dizendo: “És mesmo duro?”. Vi tantas coisas, construí
tantas frases diferentes. Perdi-me no processo de comer, beber, e esfregar os olhos contra as superfícies finas e duras que cercam a alma, as quais, e durante a
juventude, nos impedem de sair – daí a falta de remorsos e a violência característica dos jovens. Chegou agora a hora de perguntar: “Quem sou eu?”. Outra coisa não
fiz até agora senão falar a respeito do Bernard, do Neville, da Jinny, da Susan, da Rhoda e do Louis. Serei eu todos eles? Serei uma criatura individual e distinta?
Não sei. Houve um tempo em que nos sentávamos juntos. Mas agora o Percival e a Rhoda estão mortos; estamos divididos; não estamos aqui. Mesmo assim, sou incapaz
de encontrar qualquer obstáculo a nos separar. Não existem divisões entre eu e eles. À medida que falava, sentia que “eu sou vocês”. Conseguira ultrapassar esta
divisão que tanto fazemos, esta identidade que adoramos com tanto fervor. Sim, quando a velha Mrs. Constable levantou a esponja e, derramando água sobre mim, me
cobriu a carne, o facto tornou-me ultra-sensível. Sinto na testa o golpe que provocou a morte do Percival. Aqui, na nuca, está a marca do beijo que a Jinny deu ao
Louis. Tenho os olhos cheios com as lágrimas da Susan. Lá ao longe, estremecendo como de uma teia dourada se tratasse, vejo a coluna que a Rhoda via, e sinto a deslocação
de ar provocada por ela quando se atirou. É assim que para moldar a história da minha vida e te a apresentar como algo completo, tenho de me lembrar de coisas há
muito ocorridas, afundadas nesta ou naquela vila, nela se fixando; de sonhos, dos objectos que me rodeavam, e dos seres que em mim habitam, esses velhos fantasmas
semi-articulados que não param de me assombrar de noite e de dia; que se agitam durante o sono, que emitem gritos confusos, que estendem os dedos fantasmagóricos
e me agarram sempre que tento escapar – sombras de potenciais seres humanos; seres que não chegaram a nascer. Claro que não me posso esquecer do velho bruto, do
selvagem, do homem coberto de pêlo, que se entretém a brincar com entranhas; que devora e arrota; cujo discurso é gutural, visceral – bom, ele também existe e vive
em mim. Esta noite alimentou-se de codornizes, salada, e timo de vitela. De momento, tem entre as garras um copo de brandy velho. À medida que bebo, vai ronronando
de satisfação. Sim, é verdade que lava as mãos antes de jantar, mas mesmo assim estas continuam peludas. Abotoa calças e coletes, mas estes contêm os mesmos órgãos.
Faz birras se não lhe dou de jantar.
Não pára de fazer caretas e de apontar com gestos semi-idiotas de cobiça e ganância que o caracterizam para tudo o que deseja. Garanto-vos que, por vezes,
tenho dificuldade em o controlar. Aquele homem, peludo e semelhante a um macaco, tem dado a sua regular contribuição na minha vida. Deu um brilho ainda mais verde
às coisas que já o eram, levantou a sua tocha vermelha e fumarenta por detrás de todas as folhas.
Chegou mesmo a iluminar todo o jardim. Brandiu o archote em algumas vielas sórdidas onde de súbito as raparigas pareciam brilhar com uma transparência avermelhada.
Oh, o certo é que elevou bem alto a sua chama! O certo é que me fez entrar em danças selvagens! Mas agora acabou-se. Esta noite o meu corpo ergue-se como se de um
templo se tratasse, um templo coberto de tapetes, onde os murmúrios se elevam e o incenso arde nos altares.
Tenho a cabeça recheada de belas melodias e vagas de incenso, isto enquanto a pomba perdida esvoaça, os pendões ondulam por sobre as tumbas, e os ventos escuros
da meia-noite fazem as árvores bater contra as janelas. Vistas deste plano transcendente, como são belas as côdeas de pão! Que perfeitas são as espirais produzidas
pelas cascas das pêras – de tão finas e sofisticadas, chegam mesmo a lembrar os ovos de uma qualquer ave marinha. Até mesmo os garfos, dispostos lado a lado de forma
ordenada, têm uma aparência lúcida, lógica, exacta; e as côdeas que deixamos são duras, lustrosas, amareladas. Seria capaz de adorar a minha própria mão, este leque
atravessado por pequenos veios azuis e misteriosos, um instrumento incrivelmente habilidoso, possuidor da capacidade subtil de se curvar com doçura ou de se deixar
cair com violência – algo de grande sensibilidade. Receptivo até mais não, tudo guardando, saciado, e, no entanto, tão lúcido, contido – assim é o meu ser agora
que o desejo o abandonou; agora que a curiosidade não o tinge de mil e uma cores. Agora que o homem a quem chamavam Bernard morreu, o homem que trazia no bolso uma
agenda onde anotava todo o tipo de frases – frases para a Lua, notas a respeito de feições; do modo como as pessoas se viravam e deixavam cair a ponta dos cigarros;
a letra B para “pó de borboleta”, a letra M para nomear a morte – este ser está como que esquecido e imune a tudo. Mas agora talvez não seja má ideia deixar que
a porta se abra, a porta de vidro que não pára de girar nas dobradiças. Deixem entrar uma mulher, deixem sentar-se um jovem de bigode, vestido a rigor. Poderão eles
dizer-me alguma coisa? Não! Já conheço tudo isto. E se ela se levantar de repente e partir, direi: “Minha cara, já não te persigo mais”. O choque provocado pelas
ondas quebrando-se contra a praia, o qual toda a vida escutei, deixou de fazer estremecer o que seguro. Agora, depois de ter assumido o mistério das coisas, posso
espiar tudo o que me apetece sem ser obrigado a abandonar este lugar, ou mesmo a levantar-me da cadeira. Posso visitar as fronteiras mais remotas dos desertos, onde
os selvagens se juntam às fogueiras. O dia vai nascendo; a rapariga eleva as jóias faiscantes à altura da fronte; os raios de sol incidem directamente na casa adormecida;
as ondas aprofundam as barras e como que se atiram de encontro à praia; a espuma voa; as águas acabam por rodear o barco e as algas. As aves cantam em coro; cavam-se
túneis profundos por entre os caules das flores; a casa adquire uma coloração pálida; o ser adormecido espreguiça-se; aos poucos, tudo se começa a mover. A luz inunda
o quarto e faz recuar as sombras até um ponto em que elas se dobram e quase desaparecem. Que estará contido na sombra central? Algo? Coisa nenhuma? Não sei. Oh,
mas eis que surge o teu rosto! Eu, que estivera a pensar a meu respeito em termos tão vastos, comparando-me a um templo, a uma igreja, a todo o universo, sem possuir
limites e com capacidade para estar no limite das coisas como estou aqui, afinal não passo daquilo que vês – um homem idoso, pesado, de cabelos brancos, que (estou
a ver-me ao espelho) apóia o cotovelo na mesa e segura na mão esquerda um copo de brandy velho. Foi então este o golpe que me preparaste?! Acabei por bater contra
um poste. Não paro de girar de um lado para o outro. Levo as mãos à cabeça. Estou sem chapéu – deixei cair a bengala. Fiz figuras tristes e agora qualquer um pode
troçar de mim. Meu Deus, como a vida é nojenta! Que partidas sujas nos prega, concedendo-nos a liberdade num momento para logo a seguir nos fazer isto! Cá estamos
nós de volta às côdeas e aos guardanapos manchados. Aquela faca está cheia de gordura congelada. A desordem, a sordidez e o caos rodeiam-nos.
Temos estado a levar à boca corpos de aves mortas. Somos feitos de pedaços de gordura limpos aos guardanapos, e pequenos cadáveres. Tudo regressa ao ponto
de partida; o inimigo está sempre presente; olhos que nos fitam; dedos que nos apertam; o esforço à nossa espera. Chama o criado. Paga a conta. Temos de nos levantar.
Temos de encontrar os casacos. Temos de partir. Temos, temos, temos – que palavra detestável. Mais uma vez, eu, que me julgara imune, que dissera: “Agora, estou
livre de tudo”, descubro que a onda se abateu contra mim, espalhando tudo o que possuía, deixando-me o trabalho de voltar a juntar e a montar as peças, a reunir
forças, a me erguer e a confrontar o inimigo. É estranho como nós, capazes de tanto sofrer, somos capazes de provocar tanto sofrimento. É estranho como o rosto de
alguém que mal conheço e que me lembra vagamente uma pessoa que conheci na prancha de embarque de um navio prestes a partir para África – um simples esboço composto
por olhos, maçãs do rosto e narinas – tenha poder para me infligir semelhante insulto. Olhas, comes, sorris, aborreces-te, estás satisfeito, perturbado – é tudo
o que sei. Porém, esta sombra sentada à minha frente há já uma ou duas horas, esta máscara por onde espreitam dois olhos, tem poder para me fazer recuar, para me
fechar num compartimento quente; para me fazer andar de um lado para o outro como uma borboleta por entre as lâmpadas. Mas espera. Espera um pouco enquanto a conta
não chega. Agora que já te insultei por me teres desferido um golpe que me fez cambalear por entre cascas, côdeas e bocados de carne, registrarei em palavras de
uma sílaba o modo como o teu olhar me faz aperceber disto, daquilo, e de tudo o mais. O relógio faz tiquetaque; a mulher espirra; o criado chega – as coisas vão-se
juntando aos poucos, transformando-se num só objecto.
Verifica-se um processo de aceleração e unificação. Escuta: soa um apito, as rodas giram, as dobradiças da porta gemem. Recupero o sentido da complexidade,
da realidade e da luta, e devo agradecer-te por isso. E é com alguma pena e inveja, e também com muito boa vontade, que te aperto a mão e te digo adeus. Deus seja
louvado por esta solidão! Estou só. Aquele indivíduo quase desconhecido já partiu, talvez tenha ido apanhar um comboio ou um táxi e se dirija agora para um qualquer
lugar onde o espera uma pessoa que não conheço. Desapareceu aquela cara que não parava de me olhar. A pressão deixou de se fazer sentir. Aqui só existem chávenas
de café vazias e cadeiras onde ninguém se senta. Aqui só existem mesas vazias e ninguém jantará nelas esta noite. Deixem-me entoar o meu cântico de glória. Que o
céu seja louvado pela bênção da solidão. Deixem-me estar só. Deixem-me atirar para longe este véu do ser, esta nuvem que muda ao ritmo da respiração, consoante seja
dia ou noite e durante todo o dia e toda a noite. Mudei enquanto estive sentado. Vi o céu mudar. Vi as nuvens cobrirem-se de estrelas e libertarem-nas para de novo
as cobrirem. Deixei de ver as alterações por elas sofridas. Ninguém me vê e também eu deixei de mudar. Que o céu seja louvado por ter removido a pressão do olhar,
a solicitação do corpo, e toda a necessidade de mentiras e frases. O meu bloco-notas, coberto de frases, caiu ao chão. Está debaixo da mesa, pronto a ser varrido
pela mulher da limpeza que costuma aqui chegar ao nascer do dia, disposta a varrer todos os pedaços e bolas de papel, velhos bilhetes de eléctrico, e todos os detritos
que ficaram na sala. Qual a frase para a Lua? E a frase do amor? Por que nome deveremos chamar a morte? Não sei. Necessito de uma linguagem semelhante à dos amantes,
de palavras de uma só sílaba iguais às que as crianças usam quando entram numa sala e encontram a mãe a coser, pegando então num pedaço de lã colorida, numa pena,
ou num quadrado de chita. Necessito de um uivo, de um grito. Quando a tempestade atravessa o pântano e me apanha a descoberto na vala onde me encontro, não preciso
de palavras nem de nada arrumadinho. Não quero nada que venha do ar e poise no solo com toda a força, não quero nenhuma das ressonâncias e ecos que nos vibram ao
longo dos nervos e se transformam em música selvagem e em frases falsas. Estou farto de frases. O silêncio é bem melhor; a chávena de café, a mesa. É bem melhor
sentar-me sozinho, como uma gaivota solitária que se empoleira num poste e abre as asas a todo o comprimento.
Deixem-me ficar aqui para sempre com todos estes objectos nus, esta chávena, esta faca, este garfo, tudo coisas em si mesmas, eu próprio nada mais sendo que
eu próprio. Não me venham perturbar com essa história de que está na hora de fechar e partir. De boa vontade vos daria todo o dinheiro que possuo para me deixarem
ficar em paz e em silêncio, sozinho, sozinho para sempre. É então que o chefe dos empregados, que só agora acabou de jantar, aparece e franze o sobrolho. Tira o
cachecol do bolso, e prepara-se para partir. Todos têm de partir; têm de correr as persianas, dobrar as toalhas e passar a rodilha molhada por baixo das mesas. Malditos
sejam! Por muito abatido que esteja, tenho de me levantar, encontrar o casaco que me pertence, enfiar os braços nas mangas, agasalhar-me contra o frio da noite e
partir.
Eu, eu, eu, cansado e gasto de tanto esfregar o nariz contra a superfície das coisas, até mesmo eu, um homem velho e gordo, que não gosta de praticar esforços,
me vejo forçado a sair e a apanhar o último comboio. Volto a ver a rua do costume. O brilho da civilização como que se gastou. O céu apresenta-se escuro e polido
como um osso de baleia. Contudo, há nele uma espécie de luz que tanto pode provir de um candeeiro como do alvorecer. Sinto uma espécie de agitação – algures, numa
árvore baixa, os pardais chilreiam. Paira no ar a sensação de que o dia vai nascer. Não lhe chamaria alvorada. Qual o significado de uma alvorada na cidade para
um homem velho, parado no meio da rua e a olhar meio tonto para o céu? A alvorada é uma espécie de empalidecer do céu; uma espécie de renovação. Um outro dia, uma
outra sexta-feira, um outro vinte de Março, Janeiro ou Setembro. Um outro despertar geral. As estrelas recolhem-se e extinguem-se.
As barras tornam-se mais profundas por sobre as ondas. Um filtro de nevoeiro adensa-se por sobre os campos. O vermelho condensa-se nas rosas, até mesmo naquela
bastante pálida, por cima da janela do quarto. Um pássaro chilreia. Os lavradores acendem as primeiras velas. Sim, trata-se do eterno renascer, de uma incessante
ascensão e queda. Sinto que até mesmo para mim a onda se eleva. Incha, dobra-se. Tomo consciência de um novo desejo, de qualquer coisa que se ergue em mim como um
cavalo orgulhoso, cujo montador esporeou antes de obrigar a parar. Que inimigo vemos avançar em direcção a nós, tu, a quem agora monto enquanto desço este caminho?
a morte. É ela o inimigo. É contra a morte que ergo a minha lança e avanço com o cabelo atirado para trás, tal como se este pertencesse a um jovem, ao Percival a
galopar na Índia. Esporeio o cavalo. É contra ti que me lanço, resoluto e invencível, Morte!
As ondas quebram-se na praia.
O Sol ainda não nascera. Era quase impossível distinguir o céu do mar, mas este apresentava algumas rugas, como se de um pedaço de tecido se tratasse. Aos poucos, à medida que o céu clareava, uma linha escura estendeu-se no horizonte, dividindo o céu e o mar. Então, o tecido cinzento coloriu-se de manchas em movimento, umas sucedendo-se às outras, junto à superfície, perseguindo-se mutuamente, sem parar.
Quando se aproximavam da praia, as barras erguiam-se, empilhavam-se e quebravam-se, espalhando na areia um fino véu de água esbranquiçada. As ondas paravam e depois voltavam a erguer-se, suspirando como uma criatura adormecida, cuja respiração vai e vem sem que disso se aperceba. Gradualmente, a barra escura do horizonte acabou por clarear, tal como acontece com os sedimentos de uma velha garrafa de vinho que acabam por afundar e restituir à garrafa a sua cor verde. Atrás dela, o céu clareou também, como se os sedimentos brancos que ali se encontravam tivessem afundado, ou se um braço de mulher oculto por detrás da linha do horizonte tivesse erguido um lampião e este espalhasse raios de várias cores, branco, verde e amarelo (mais ou menos como as lâminas de um leque), por todo o céu. Então, ela levantou ainda mais o lampião, e o ar pareceu tornar-se fibroso e arrancar, daquela superfície verde, chispas vermelhas e amarelas, idênticas às que se elevam de uma fogueira.
Aos poucos, as fibras da fogueira foram-se fundindo numa bruma, uma incandescência que levantou o peso do céu cor de chumbo que se encontrava por cima, transformando-o num milhão de átomos de um azul suave. O mar foi, aos poucos, tornando-se transparente, e as ondas ali se deixavam ficar, murmurando e brilhando, até as faixas escuras quase desaparecerem. Devagar, o braço que segurava a lanterna elevou-se ainda mais, até uma chama brilhante se tornar visível; um arco de fogo ardendo na margem do horizonte, cobrindo o mar com um brilho dourado.
A luz atingiu as árvores do jardim, tornando, primeiro, esta folha transparente, e só depois aquela. Lá no alto, uma ave chilreou; seguiu-se uma pausa; mais abaixo, escutou-se outro chilreio. O sol definiu os contornos das paredes da casa, e, semelhante à ponta de um leque, um raio de luz incidiu numa persiana branca, colocando uma impressão digital azulada por baixo da folha da janela do quarto. A persiana estremeceu ligeiramente, mas lá dentro tudo se mostrava fosco e inconsistente.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/AS_ONDAS.jpg
Cá fora, os pássaros cantavam uma melodia sem sentido.
– Vejo um anel – disse Bernard – suspenso por sobre mim. – Está suspenso num laço de luz e estremece.
– Vejo uma lâmina de um amarelo pálido – disse Susan –, espalhando-se até encontrar uma risca púrpura.
– Ouço um som – disse Rhoda –, piu, piu, piu, piu, a subir e a descer.
– Vejo um globo – disse Neville – suspenso numa gota que cai de encontro à encosta de uma enorme montanha.
– Vejo uma borboleta escarlate – disse Jinny –, tecida com fios de ouro.
– Ouço cascos a bater – disse Louis. – Está preso um animal bastante grande. Bate os cascos, bate e bate.
– Reparem na teia de aranha ao canto da varanda – disse Bernard. – Está cheia de contas de água, de gotas de luz.
– As folhas juntaram-se em torno da janela como se fossem orelhas pontiagudas – disse Susan.
– Há uma sombra no caminho -– disse Louis. – Parece um cotovelo dobrado.
– A erva está cheia de linhas luminosas – disse Rhoda. – De certeza que caíram das árvores.
– Nos túneis existentes entre as folhas, podem ver-se olhos brilhantes. São de pássaros – disse Neville.
– As hastes estão cobertas de pêlos curtos e duros – disse Jinny – e as gotas de água ficam presas neles.
– Uma lagarta enroscou-se e parece um anel de onde saem muitos pés verdes – disse Susan.
– Um caracol cinzento vem a descer o caminho, alisando as ervas atrás dele – disse Rhoda.
– E as luzes das janelas reflectem-se aqui e ali na relva – disse Louis.
– As pedras fazem-me ficar com os pés frios – disse Neville. – Sinto-as a todas, uma a uma, redondas e pontiagudas.
– Tenho as costas das mãos quentes – disse Jinny –, mas as palmas estão pegajosas e úmidas por causa do orvalho.
– Agora, o galo está a cantar e lembra um esguicho de água avermelhada numa corrente branca – disse Bernard.
– Os pássaros não param de cantar à nossa volta e por todo o lado – disse Susan.
– O animal bate as patas; o elefante com a perna presa; o enorme animal que está na praia bate os cascos – disse Louis.
– Reparem na casa – disse Jinny –, com todas as janelas e persianas brancas.
– A água fria começa a correr na torneira da cozinha – disse Rhoda –, caindo no peixe que está na bacia.
– As paredes estão cheias de rachas douradas – disse Bernard –, e por baixo das janelas há muitas sombras azuis em forma de dedos.
– Agora, Mrs. Constable está a colocar as suas meias escuras e grossas – disse Susan.
– Quando o fumo se elevar na chaminé, o sono escapar-se-á pelo telhado como uma névoa muito fina – disse Louis.
– Os pássaros começaram por cantar em coro – disse Rhoda. – Agora, a porta da cozinha já não está trancada. E lá vão eles a voar. E lá vão eles pelos ares
como uma mão-cheia de sementes. Mesmo assim, há um que continua a cantar junto à janela do quarto.
– Formam-se bolhas no fundo da frigideira – disse Jinny – Depois, elevam-se, cada vez mais rápidas, até formarem uma cadeia prateada que chega ao topo.
– Agora, o Billy está a escamar o peixe com uma faca – disse Neville.
– A janela da casa de jantar é agora azul-escura – disse Bernard –, e o ar ondula por cima das chaminés.
– Uma andorinha está empoleirada no fio eléctrico – disse Susan. – E a Biddy poisou o balde com força nas lajes da cozinha.
– Aquilo era a primeira badalada do relógio da igreja – disse Louis. – A seguir vêm as outras; uma, duas; uma, duas.
– Olhem para a toalha, muito branca, a voar para cima da mesa – disse Rhoda. – Vêem-se, agora, os círculos de porcelana branca e faixas prateadas ao lado dos
pratos.
– De repente, uma abelha zumbe ao meu ouvido – disse Neville. – Está aqui; já se foi embora.
– Estou a ferver. Tenho frio – disse Jinny. – Ou estou ao sol ou à sombra.
– Já se foram todos embora – disse Louis. – Estou só. Foram para casa tomar o pequeno-almoço, e eu fiquei ao pé do muro, entre as flores. Ainda é cedo, falta
muito tempo para ir para as aulas. As flores são como manchas incrustadas nas profundezas verdes. As pétalas são arlequins. As hastes erguem-se a partir de buracos
negros. As flores, semelhantes a peixes luminosos, recortando-se contra um fundo escuro, nadam nas águas verdes. As minhas raízes chegam às profundezas do mundo;
passam por terrenos secos e alagados; passam por veios de chumbo e prata. Nada mais sou que fibra. Tudo me faz estremecer, e a terra comprime-se contra os meus veios.
Cá em cima, os meus olhos são como folhas verdes e não vêem. Cá em cima, sou um rapaz vestido de flanela cinzenta, com as calças apertadas por um cinto, com uma
serpente de bronze. Lá em baixo, os meus olhos são como os das figuras de pedra existentes nos desertos junto ao Nilo: desprovidos de pestanas. A caminho do rio,
vejo passar mulheres com as suas ânforas vermelhas; vejo camelos baloiçando-se e homens com turbantes. Ouço tropéis e tremores em meu redor.
Cá em cima, o Bernard, o Neville, a Jinny e a Susan (mas não a Rhoda) passeiam pelos canteiros com as suas redes. Andam a caçar as borboletas que poisam nas
flores. Estão a varrer a superfície do mundo. As redes estão cheias de asas esvoaçantes. “Louis! Louis! Louis!”, gritam. No entanto, não me podem ver. Estou do outro
lado da sebe. Existem apenas alguns buraquinhos entre as folhas. Oh, meu Deus, eles que passem! Eles que estendam um lenço no cascalho e nele coloquem as borboletas.
Eles que contem as suas borboletas com manchas pretas e amarelas, as suas vanessas e borboletas-da-couve, mas que não me vejam. Sou tão verde como um teixo à sombra
da vedação. Criei raízes no meio da terra. O meu corpo é um caule. Carrego no caule. Uma gota corre por ele lentamente, e, aos poucos, vai-se tornando maior, cada
vez maior. Agora, qualquer coisa cor-de-rosa passa pelo buraquinho. Agora, um olhar passa pela fenda. A luz que dele emana atinge-me. Sou um rapaz com um fato de
flanela cinzenta. Ela encontrou-me. Toca-me na nuca. Beija-me. Tudo se desmorona.
– Logo a seguir ao pequeno-almoço – disse Jinny –, eu andava a correr. Vi as folhas mexerem-se através de uma abertura na sebe. Pensei: É um pássaro no ninho.
Afastei os ramos e olhei, mas não vi pássaro nem ninho. As folhas continuaram a mover-se. Estava assustada. Passei a correr pela Susan, pela Rhoda, pelo Neville
e pelo Bernard. Estavam todos a falar na arrecadação. Gritei enquanto corria, depressa, cada vez mais depressa. Que faria mexer as folhas? Qual a coisa que faz mexer
o meu coração, as minhas pernas? Foi então que aqui cheguei e te vi, verde como um arbusto, como um ramo, muito quieto, Louis, com os olhos vítreos. Estará morto?,
pensei, e beijei-te. Por baixo do vestido cor-de-rosa, o meu coração saltava, semelhante às folhas, que, e muito embora nada exista que as faça mexer, não param
de oscilar. Agora, chega-me ao nariz o odor a gerânios; chega-me ao nariz o odor a terra vegetal. Danço. Ondulo. Deixo-me cair sobre ti como uma rede de luz. Deixo-me
ficar deitada em cima de ti, a tremer.
– Vi-a beijá-lo através da fenda na sebe – disse Susan. – Levantei a cabeça do vaso das flores e espreitei por uma fenda da sebe. Vi-a beijá-lo. Vi-os, à Jinny
e ao Louis, a beijarem-se. Agora, só me resta embrulhar a minha dor neste lenço. Vou amachucá-lo com força até ficar igual a uma bola. Antes das aulas, irei sozinha
para o bosque das faias. Não me irei sentar à mesa, a fazer contas. Não me irei sentar ao lado da Jinny e do Louis. Vou levar a minha angústia e poisá-la nas raízes,
por baixo das faias. Examiná-la-ei e passá-la-ei por entre os dedos. Eles não me irão encontrar. Comerei nozes e tentarei encontrar ovos por entre os espinheiros,
o meu cabelo vai ficar emaranhado, e acabarei por ter de dormir debaixo das sebes e de beber água das poças, acabando por morrer.
– A Susan passou por nós – disse Bernard. – Passou pela arrecadação com o lenço todo amachucado. Parecia uma bolsa. Não estava a chorar, mas os olhos, que
são tão bonitos, pareciam fendas. Lembravam os dos gatos quando eles se preparam para saltar. Vou atrás dela, Neville. Vou atrás dela com todo o cuidado para, com
a minha curiosidade, a poder confortar quando toda aquela fúria explodir e ela pensar: “Estou sozinha”. Ela agora vai atravessar o campo com toda a calma, para nos
enganar. Já chegou ao declive: pensa que ninguém a vê; começa a correr com os punhos cerrados. As unhas cravam-se na bola em que o lenço se transformou. Vai na direcção
do bosque das faias, para longe da luz. Estende os braços quando se aproxima, e parte para a sombra como se nadasse. Porém, a luz deixa-a cega e acaba por tropeçar
e cair junto às raízes das árvores, onde a luz aparece e desaparece, inspira e expira. Os ramos movem-se para cima e para baixo. Aqui, a agitação é muita. As trevas
movem-se para cima e para baixo. Aqui, a agitação é muita. As trevas abundam. A luz é caprichosa. A angústia é omnipresente. As raízes formam como que um esqueleto
no solo, e as folhas mortas amontoam-se nos seus ângulos. A Susan espalhou toda a angústia que sentia. Poisou o lenço nas raízes das faias e soluça, dobrada sobre
si mesma no ponto onde caiu.
– Eu vi-a beijá-lo – disse Susan. – Espreitei por entre as folhas e vi-a. Estava a dançar, coberta de diamantes, leve como um grão de poeira. E eu sou gorda,
Bernard, e baixa. Os meus olhos nunca se levantam do chão e vejo insectos na erva. O tom quente e amarelo que estava junto a mim transformou-se em pedra quando viu
a Jinny beijar o Louis. De hoje em diante, vou passar a comer erva e acabarei por morrer junto a uma poça de água castanha, cheia de folhas podres.
– Vi-te fugir – disse Bernard. – Quando passaste pela arrecadação, ouvi-te gritar: “Sou tão infeliz!”. Poisei a faca. Estava a fazer barcos de madeira com
o Neville. Para mais, tenho o cabelo despenteado porque, quando a Mrs. Constable me disse para o pentear, havia uma mosca numa teia de aranha, e dei comigo a perguntar:
“Deverei soltar a mosca? Deverei deixá-la ser comida?”. É por isso que ando sempre atrasado. Tenho o cabelo despenteado e estes pauzinhos prenderam-se nele. Quando
te ouvi gritar, segui-te e vi-te poisar o lenço amarrotado, contendo toda a raiva e todo o ódio. No entanto, isso vai passar depressa. Os nossos corpos estão agora
juntos. Podes ouvir-me respirar. Podes também ver aquele escaravelho com uma folha às costas. Primeiro, vem neste sentido, depois, passa para aquele, e isso faz
com que o teu desejo de possuir uma coisa apenas (agora é o Louis) se veja obrigado a estremecer como a luz que se move por entre as folhas das faias; e por fim
as palavras, que agora se movem sombrias nas profundezas da tua mente, acabarão por quebrar este nó de dor enrolado no teu lenço.
– Amo – disse Susan –, amo e odeio. Desejo apenas uma coisa. O meu olhar é rígido. Dos olhos da Jinny desprendem-se milhares de luzes. Os da Rhoda assemelham-se
àquelas flores pálidas, onde as borboletas nocturnas vêm poisar. Os teus são grandes e redondos, e nunca se quebram. Mas eu já tenho um objectivo. Vejo insectos
na erva. Muito embora a minha mãe ainda me tricote meias brancas e me costure bibes, e eu não passe de uma criança, o certo é que amo e odeio.
– Mas, quando nos sentamos juntos – disse Bernard –, fundimo-nos um no outro com frases. Ficamos unidos por uma espécie de nevoeiro. Transformamo-nos num território
imaterial.
– Estou a ver o escaravelho – disse Susan. – É preto; estou a ver; é verde, estou a ver; as palavras amarram-me ao solo. Mas tu divagas, tu escapas-te; as
palavras e as frases por elas compostas elevam-se mais e mais.
– Bom – disse Bernard –, vamos partir à aventura. Há uma casa branca entre as árvores. Está mesmo lá no fundo. Vamo-nos afundar como dois nadadores, tocando
o solo com as pontas dos pés. Vamo-nos afundar através do ar esverdeado das folhas, Susan. Vamo-nos afundar enquanto corremos. As ondas fecham-se sobre nós, as folhas
das faias tocam-se por cima das nossas cabeças. Lá está o relógio do estábulo com os seus ponteiros dourados a brilhar. Aqueles ali são os altos e baixos dos telhados
da casa grande. O empregado da cavalariça, calçando umas botas de borracha, não pára de gritar no pátio. Estamos em Elvedon. Agora, caímos através das folhas das
árvores e chegamos ao chão. O ar já não faz rolar por cima de nós as suas vagas enormes, tristes e avermelhadas. Os nossos pés tocam o solo; pisamos terra firme.
Ali, está a sebe bem aparada do jardim das senhoras. É por ali que elas andam, ao meio-dia, munidas de tesouras, a cortar rosas. Agora, estamos no bosque em forma
de anel, rodeado por um muro. Estamos em Elvedon. Já tenho visto marcos nos cruzamentos a indicar o caminho para aqui, se bem que nunca ninguém cá tenha estado.
Os fetos têm um cheiro muito forte, e por baixo deles crescem fungos vermelhos. Acordamos as gralhas adormecidas que nunca antes viram uma forma humana; pisamos
bolotas apodrecidas, escorregadias e avermelhadas devido ao tempo. Há um círculo de pedra em redor deste bosque; nunca cá vem ninguém. Escuta! É o ruído provocado
por um sapo gigante a saltar; são as pinhas a cair por entre os fetos.
Põe o pé neste tijolo. Espreita por cima do muro. Aquilo ali é Elvedon. Há uma senhora sentada entre duas grandes vidraças, a escrever. Os jardineiros varrem
o jardim com duas grandes vassouras. Somos os primeiros a chegar aqui. Somos os descobridores de um território desconhecido. Não te mexas; os jardineiros disparam
se nos virem. Depois, pregam-nos na porta do estábulo como se fôssemos doninhas. Cuidado! Não te mexas. Agarra-te com força aos fetos que crescem em cima do muro.
– Vejo a senhora a escrever. Vejo os jardineiros a varrer – disse Susan. – Se morrermos aqui, não há ninguém para nos enterrar.
– Corre! – disse Bernard. – Corre! O jardineiro da barba preta já nos viu! Vamos morrer! Vão-nos matar como se fôssemos gaios e pregar-nos à parede! Estamos
em território hostil. Temos de fugir para o bosque das faias. Temos de nos esconder debaixo das árvores. Existe um caminho secreto. Dobra-te o mais que puderes.
Avança sem olhar para trás. Vão pensar que somos raposas. Corre!
Agora, estamos a salvo. Já nos podemos voltar a endireitar. Já podemos estender os braços no meio desta vegetação tão alta, no meio deste bosque tão grande.
Não ouça nada. Aquilo é o murmúrio das ondas do ar. Isto é o pombo-bravo que se escondeu no cimo das faias. O pombo agita o ar; o pombo agita o ar com as suas asas
de madeira.
– Estás-te a afastar – disse Susan –, tu e as tuas frases. Elevas-te nos ares como bolas de sabão, cada vez mais alto, por entre as camadas de folhas, até
acabares por desaparecer. Agora, demoras-te um pouco. Agora, puxas-me a saia, olhas para trás e constróis muitas frases. Acabaste por me escapar. Aqui, é o jardim.
Aqui, fica a sebe. Aqui, está a Rhoda no meio do carreiro, a embalar uma bacia castanha cheia de pétalas.
– Todos os meus navios são brancos – disse Rhoda. – Não quero nem as pétalas vermelhas das malvas nem sequer as dos gerânios. Quero apenas pétalas brancas
que flutuem quando inclino a taça. Tenho uma frota a vogar de margem a margem. Deixarei cair um ramo lá dentro, tal como se fosse uma jangada destinada a um náufrago.
Deixarei cair uma pedra lá dentro e ficarei a ver as bolhas erguerem-se das profundezas do mar. O Neville desapareceu e a Susan também; a Jinny está no jardim em
frente à cozinha a apanhar borboletas, e o mais provável é o Louis estar com ela. Tenho pouco tempo para estar só. A esta hora, a Miss Hudson está a espalhar os
livros pelas carteiras. Tenho pouco tempo para ser livre. Apanhei todas as pétalas caídas e pu-las a nadar. Pus gotas de chuva em algumas. Vou colocar um farol aqui.
Agora, vou embalar a minha taça castanha de um lado para o outro para que os meus navios possam cavalgar as ondas. Alguns afundar-se-ão. Outros despedaçar-se-ão
contra os rochedos. Mas há um que navega sozinho. É o que é verdadeiramente meu. Navega por cavernas geladas onde os ursos polares rosnam, e das estalactites pendem
correntes negras. As ondas elevam-se; as suas cristas enrolam-se; reparem nas luzes dos mastros principais. A frota separou-se e todos os navios naufragaram à excepção
do meu, que sobe as ondas e se antecipa à tempestade, alcançando as ilhas onde os papagaios tagarelam e as trepadeiras...
– Onde é que está o Bernard? – disse Neville. – É ele quem tem a minha faca. Estávamos na arrecadação a fazer barcos, e foi então que a Susan passou. O Bernard
deixou cair o barco e foi atrás dela com a minha faca, aquela que é muito afiada e serve para talhar as quilhas. Ele é como um fio muito esticado, sempre a estremecer.
É como as algas que estão penduradas do lado de fora da janela, ora úmidas ora secas. Deixa-me sozinho, vai atrás da Susan; e, se ela gritar, ele pega na minha faca
e conta-lhe histórias. A lâmina grande é um imperador; a lâmina quebrada um negro. Odeio coisas que estremecem; odeio coisas escorregadias. Odeio delírios e misturas.
A campainha está a tocar e vamos chegar atrasados. Temos de poisar os brinquedos. Temos de entrar ao mesmo tempo. Os livros estão arrumados lado a lado, em cima
da mesa forrada a baeta verde.
– Só conjugarei o verbo depois de o Bernard o ter dito – disse Louis. – O meu pai é banqueiro em Brisbane e eu falo com sotaque australiano. Vou esperar e
imitar o Bernard. Ele é inglês. Eles são todos ingleses. O pai da Susan é vigário. A Rhoda não tem pai. O Bernard e o Neville são filhos de cavalheiros. A Jinny
vive em Londres com a avó. Estão todos a morder as canetas. Agora, estão a virar os livros, e, olhando de esguelha para Miss Hudson, contam-lhe os botões vermelhos
do corpete. O Bernard tem um raminho no cabelo. Os olhos da Susan estão vermelhos. Ambos estão corados. Mas eu estou pálido; estou limpo; e as minhas calças de golfe
estão bem apertadas com um cinto com uma cobra de bronze. Sei a lição de cor. Sei mais do que aquilo que eles alguma vez saberão. Sei os casos e os gêneros; podia
aprender tudo e mais alguma coisa se quisesse. Mas eu não quero emergir e dizer a lição. Tal como fibras num vaso de flores, as minhas raízes enrolam-se em torno
do mundo. Não quero emergir e viver à luz deste enorme relógio amarelo que não pára de fazer tiquetaque-tiquetaque. A Jinny e a Susan, o Bernard e o Neville, juntam-se
e transformam-se numa correia pronta para me chicotear. Riem-se por eu ser tão arrumado, por falar com sotaque australiano. Vou tentar imitar o Bernard com os seus
ceceios em latim.
– Tratam-se de palavras brancas – disse Susan –, iguais às pedras que apanhamos à beira-mar.
– À medida que as pronuncio, batem como caudas, ora à esquerda ora à direita – disse Bernard. – Abanam as caudas; fazem-nas estalar; movem-se em bandos pelo
ar, agora nesta direcção, agora naquela, agora em conjunto, agora separando-se, agora voltando a juntar-se.
– São palavras que queimam, são palavras amarelas – disse Jinny. – Gostava de ter um vestido quente, um vestido amarelo, para usar à noite.
– Cada forma verbal – disse Neville –, tem um significado diferente. O mundo tem uma ordem; existem distinções; existem diferenças neste mundo em cuja margem
tropeço. Trata-se apenas do começo.
– A Miss Hudson acabou de fechar o livro – disse Rhoda. – Está a começar o terror. Agora, pega no giz e começa a desenhar números, seis, sete, oito, e depois
uma cruz e só então uma linha. Está tudo no quadro. Qual é a resposta? Os outros olham, olham com ar de quem compreende. O Louis escreve; a Susan escreve; o Neville
escreve; a Jinny escreve; até mesmo o Bernard começou agora a escrever. Todavia, eu não consigo. Apenas vejo números. Um a um, os outros vão entregando as respostas.
Chegou a minha vez. Só que não tenho respostas. Os outros tiveram autorização para sair. Deixaram-me sozinha para que encontrasse resposta. Os números não têm qualquer
sentido. O sentido desapareceu. O relógio faz tiquetaque. Os dois ponteiros são como caravanas a atravessar o deserto. As barras negras no mostrador são como oásis
verdes. O ponteiro maior antecipou-se para ir buscar água. O outro, dolorosamente, vai tropeçando por entre as pedras quentes. Acabará por morrer no deserto. A porta
da cozinha bate. Os cães vadios ladram lá longe. Reparem, a forma redonda do número começa a encher-se com o tempo; o mundo está todo lá contido. Comecei a traçar
um número, o mundo está lá dentro e eu estou fora do laço. Acabo por o fechar – assim – selando-o, tornando-o inteiro. O mundo está completo e eu estou de fora,
a gritar: “Oh, salvem-me, salvem-me de ser afastada para sempre do laço do tempo!”.
– Lá está a Rhoda a olhar para o quadro – disse Louis –, na sala. Enquanto isso, eu estou cá fora, a apanhar pedacinhos de tomilho e a apertar folhas de abrótano.
E o Bernard vai contando uma história. Tem as omoplatas unidas, e estas lembram as asas de uma pequena borboleta. À medida que olha para aqueles números feitos a
giz, a sua mente fica presa por entre os círculos brancos, até que acaba por se soltar dos laços e cair no vazio. Nada daquilo tem sentido para ela. Nada daquilo
tem sentido para ela. Nada tem para lhe responder. Ao contrário dos outros, ela não tem corpo. E eu, que falo com sotaque australiano e cujo pai é banqueiro em Brisbane,
não a receio como receio os outros.
– Vamos agora rastejar – disse Bernard – por baixo de toda esta vastidão de folhas de groselheira, e contar histórias. Vamos para o mundo subterrâneo. Vamos
tomar posse do território que nos pertence, o qual se encontra iluminado por cachos de groselhas semelhantes a candelabros, ora vermelhos ora negros. Aqui, Jinny,
se nos baixarmos bastante, podemos ficar sentados por baixo das folhas a ver baloiçar os turíbulos. Este é o nosso universo. Os outros passam lá ao longe, no caminho
das carruagens. As saias da Miss Hudson e da Miss Curry revolteiam como se fossem apagar a luz das velas. Aquelas são as meias brancas da Susan. Aqueles são os lindos
sapatos do Louis, pisando o cascalho. O cheiro quente das folhas em decomposição, da vegetação que apodrece, espalha-se pelos ares. Estamos agora num pântano, numa
floresta tropical. Está ali um elefante coberto de larvas brancas, morto por uma seta que o atingiu no olho. Vêem-se, claramente, os olhos brilhantes de algumas
aves – águias e abutres. Tomam-nos por árvores caídas. Precipitam-se por sobre um réptil – é uma cobra de capelo – e deixam-no com uma grande cicatriz, pronto para
ser maltratado pelos leões. Este é o nosso mundo, iluminado por crescentes e estrelas; e grandes pétalas semitransparentes que bloqueiam o caminho como se fossem
janelas avermelhadas. É tudo muito estranho. As coisas ou são enormes ou muito pequenas. Os caules das flores são tão grossos como carvalhos. As folhas são tão altas
como cúpulas de enormes catedrais. Aqui, somos como gigantes, capazes de fazer estremecer as florestas.
– Isso é aqui e agora – disse Jinny – Contudo, em breve teremos de partir. Já falta pouco para que Miss Curry faça soar o apito. Caminharemos. Ficaremos separados.
Tu irás para a escola. Terás mestres que usarão cruzes e colarinhos brancos. Eu irei para uma escola na costa oriental, e terei uma professora que se sentará por
baixo de um quadro da rainha Alexandra. É para lá que irei, junto com a Susan e a Rhoda. Isto é apenas aqui e agora. Agora, estamos deitados por baixo das groselheiras
e, sempre que a brisa sopra, as folhas cobrem-se de manchas. A minha mão lembra a pele de uma cobra. Os meus joelhos são como ilhas cor-de-rosa. A tua cara é como
uma macieira.
– É da Selva que vem todo o calor – disse Bernard. – As folhas são asas negras flutuando sobre as nossas cabeças. Lá no terraço, a Miss Curry já soprou o apito.
Somos obrigados a sair debaixo das folhas das groselheiras e a pormo-nos em sentido. Tens um raminho no cabelo, Jinny Tens uma lagarta no pescoço. Temos de nos formar
filas de dois. A Miss Curry vai levar-nos para uma marcha, ao passo que a Miss Hudson vai ficar sentada à secretária, às voltas com as contas.
– É aborrecido – disse Jinny –, andar pela estrada sem ter janelas para espreitar, sem olhos de vidro azul para olhar para o caminho.
– Temos de formar pares – disse Susan –, e caminhar de forma ordeira, sem arrastar os pés, com o Louis à frente a conduzir-nos, pois ele está sempre atento
e não se desvia para apanhar raminhos.
– Dado que é suposto eu ser demasiado delicado para os acompanhar – disse Neville –, dado cansar-me e adoecer com facilidade, servir-me-ei desta hora de solidão,
desta fuga às conversas, para vaguear pelas matas junto à casa e recuperar, se conseguir (indo para isso colocar-me no mesmo ponto), aquilo que senti ontem à noite,
quando a cozinheira andava atarefada em volta dos fogões, e, através da porta entreaberta, ouvi a história do homem morto. Encontraram-no com a garganta cortada.
As folhas da macieira colaram-se ao céu; a lua brilhou; fui incapaz de levantar os pés e subir os degraus. Encontraram-no na valeta. O sangue gorgolejou pela valeta.
O rosto era tão branco como um bacalhau morto. Chamarei para sempre a esta rigidez, a esta fixidez, a morte entre as macieiras. Viam-se nuvens de um cinzento-pálido
a flutuar; e aquela árvore inexorável; aquela árvore implacável com a sua casca prateada. O ondular da minha vida não tinha qualquer validade. Fui incapaz de passar.
Havia um obstáculo. Não sou capaz de ultrapassar este obstáculo impiedoso, disse. E os outros passaram. Porém, todos estamos condenados pelas macieiras, por aquela
árvore impiedosa que não conseguimos passar.
Agora, já não há imobilidade ou rigidez; e eu vou continuar o meu passeio pelas matas em torno da casa, ao entardecer, ao pôr do Sol, quando este faz aparecer
alguns pontos oleaginosos no linóleo, e os raios de luz se reflectem na parede, fazendo com que as pernas das cadeiras pareçam estar partidas.
– Quando chegamos do passeio – disse Susan -, vi a Florrie no jardim em frente à cozinha. Estivera a lavar, e apertava a roupa contra ela: os pijamas, as camisas
de dormir, as ceroulas. E o Ernest beijou-a. Ele tinha vestido o avental de baeta verde, estava a limpar as pratas; a boca parecia uma bolsa amachucada, e ele puxou-a,
ficando os pijamas comprimidos contra os corpos de ambos. Ele estava cego como um touro, e a angústia fê-la desfalecer. O rosto pálido cobriu-se-lhe de veias vermelhas.
Agora, e muito embora fossem pratos de pão com manteiga e copos de leite à hora do chá, vejo uma fenda na terra, e nos ares elevam-se colunas de vapor quente; a
chaleira ruge da mesma maneira que o Ernest rugiu, e, muito embora os meus dentes se enterrem no pão com manteiga e vá bebendo o leite adocicado, sinto-me tão apertada
como aqueles pijamas. Não tenho medo do calor, nem mesmo do gelo do Inverno. A Rhoda sonha, chupando uma côdea de pão embebida em leite; com um olhar vítreo, o Louis
fita a parede em frente; o Bernard esfarela o pão até o transformar em migalhas, às quais chama pessoas. O Neville, com aqueles modos arruinados e definitivos, já
acabou. Enrolou o guardanapo e enfiou-o na argola de prata. A Jinny faz girar os dedos na toalha, tal como se estivessem a dançar ao pôr do Sol, a fazer piruetas.
Mas eu não tenho medo nem do calor do Sol nem do gelo do Inverno.
– Agora – disse Louis –, todos nos levantamos; todos nos pomos de pé. A Miss Curry abre o livro negro no harmônio. É difícil não chorar quando cantamos, quando
pedimos a Deus que nos proteja durante o sono, chamando-nos criancinhas a nós mesmos. Quando estamos tristes e a tremer de apreensão, é bom cantarmos juntos e apoiarmo-nos
uns aos outros, eu contra a Susan e a Susan contra o Bernard, de mãos dadas, com medo de muitas coisas, eu, da minha pronúncia, a Rhoda, das contas; contudo, cheios
de vontade de vencer.
– Subimos as escadas como se fôssemos pôneis – disse Bernard –, a bater os pés, aos pulos, uns atrás dos outros, prontos a entrar na casa de banho. Lutamos,
brigamos, saltamos para cima e para baixo nas camas duras e brancas. Chegou a minha vez. Entro.
A Mrs. Constable, embrulhada numa toalha, pega na sua esponja cor de limão e mergulha-a na água; aquela ganha uma aparência achocolatada; pinga; e, segurando-a
bem por cima de mim, espreme-a. A água corre pelo meio das minhas costas. Sinto picadas brilhantes por toda a parte. Estou coberto por carne quente. As minhas fendas
secas estão agora molhadas; o meu corpo frio foi aquecido; está inundado e brilhante. A água desliza por mim e ensopa-me como a uma enguia. Vejo-me agora envolto
em toalhas quentes, e a sua superfície rugosa faz com que o meu sangue ronrone quando me esfrego. No topo do meu cérebro formam-se sensações ricas e pesadas; o dia
vai-se escoando – as matas; e Elvedon; a Susan e a pomba. Escorrendo pelas paredes da mente, o dia esvai-se, copioso, resplandecente. Aperto o pijama e deito-me
por baixo deste fino lençol, flutuando numa luz pálida que lembra uma película de água que me chegou aos olhos trazida por uma vaga. Ouço muito para lá dela, um
som distante e fraco, o começo de um cântico; rodas, cães; homens a gritar; sinos de igreja; o começo de um cântico.
– No momento em que dobro o vestido – disse Rhoda–, ponho de parte o desejo impossível de ser a Susan, de ser a Jinny. Contudo, sei que vou esticar os pés
para que possam tocar na barra da cama; quando a tocar, ficarei mais segura por sentir qualquer coisa de sólido. Agora, já não me posso afundar, agora, já não posso
cair através do lençol. Agora, estendo o corpo neste frágil colchão e fico suspensa. Estou por cima da terra. Já não estou de pé, já não me podem derrubar nem estragar.
E tudo é mole, maleável. As paredes e os armários tornam-se muito claros e dobram os cantos amarelados, no topo dos quais brilha um espelho pálido. Fora de mim,
a minha mente pode divagar. Penso na armada que deixei a vogar nas ondas. Estou livre de contactos e colisões. Navego sozinha por baixo dos rochedos brancos. Oh,
mas estou-me a afundar, a cair! Aquilo é o canto do armário; isto é o espelho do quarto das crianças. Porém, eles distendem-se, alongam-se. Afundo-me nas plumas
negras do sono; são asas pesadas aquilo que tenho pregado aos olhos. Viajando através da escuridão, vejo os compridos canteiros, e, de repente, Mrs. Constable aparece
por detrás da erva alta para dizer que a minha tia me veio buscar de carruagem. Monto; escapo; elevo-me nos ares, saltando com as minhas botas de saltos de mola.
Todavia, acabo por cair na carruagem que está à porta, onde ela se senta abanando as plumas amarelas, os olhos tão duros como berlindes gelados. Oh, desperto do
meu sonho! Olha, ali está a cômoda. É melhor sair destas águas. Mas elas amontoam-se à minha volta, arrastam-se por entre os seus grandes ombros; fazem-me virar;
fazem-me tombar; fazem-me estender por entre estas luzes esguias, estas ondas enormes, estes caminhos sem fim, com gente a perseguir-me, a perseguir-me.
O Sol elevou-se um pouco mais. Ondas azuis, ondas verdes, todas elas se abrem num rápido leque por sobre a praia, contornando o pontão coberto por azevinho-do-mar
e deixando pequenas poças de luz aqui e ali, espalhadas na areia. Deixam atrás de si uma tênue linha desmaiada. As rochas que antes eram tênues e de contornos mal
definidos, são agora marcadas por fendas vermelhas.
A erva tinge-se de riscas sombrias, e o orvalho, dançando na ponta das flores e das árvores, transformou o jardim num mosaico composto por brilhos isolados
que ainda não constituem um todo. As aves, com os peitos manchados de rosa e amarelo, ensaiam agora um ou outro acorde em conjunto, de forma selvagem, como grupos
de patinadores, até acabarem por se calar subitamente, afastando-se.
O Sol fez poisar lâminas ainda mais largas na casa. A luz toca em qualquer coisa verde poisada no canto da janela, transformando-a num pedaço de esmeralda,
numa gruta de um verde puro semelhante a um fruto suave. Tornou mais nítidos os contornos das mesas e das cadeiras, traçando fios dourados nas toalhas brancas. À
medida que a luz aumentava, aqui e ali, os botões iam despertando, transformando-se em flores cobertas de veios verdes, tremulas, como se o esforço que fizeram para
se abrir as obrigasse a abanar. Tudo se transformou numa massa amorfa, como se a louça dos pratos flutuasse e o aço das facas se tivesse tornado líquido. Enquanto
isso, o bater das ondas provocava um ruído abafado, semelhante ao dos toros quando caem, e que se espalhava pela praia.
– Agora – disse Bernard –, chegou a hora. Estamos no dia aprazado. O táxi está à porta. O meu enorme malão torna ainda mais arquejadas as pernas do George.
A horrível cerimônia chegou ao fim, os conselhos e as despedidas junto à porta. Agora, é a cerimônia das lágrimas, levada a cabo pela minha mãe, agora, é a cerimônia
do aperto de mão, levada a cabo pelo meu pai; agora, vou ter de continuar a acenar, pelo menos até dobrarmos a esquina. Mas até mesmo essa cerimônia chegou ao fim.
Deus seja louvado, todas as cerimônias chegaram ao fim.
Estou só. Vou à escola pela primeira vez. Toda a gente parece estar a agir de acordo com o momento presente; nunca mais. Nunca mais. A urgência de tudo isto
é assustadora. Todos sabem que vou à escola pela primeira vez. “Aquele rapaz vai à escola pela primeira vez”, diz a criada, limpando os degraus. Não devo chorar,
devo encará-los com indiferença. Agora, os horríveis portões da estação abrem-se de par em par; “o relógio com cara de lua olha-me”. Vejo-me obrigado a fazer frases
e frases, colocando assim qualquer coisa de concreto entre mim e o olhar das criadas, dos relógios, de todos aqueles rostos indiferentes. Se não o fizer, ver-me-ei
obrigado a chorar. Lá está o Louis. Lá está o Neville. Estão ambos junto às bilheteiras, envergando casacos compridos e transportando as suas malas. Têm um ar composto.
Apesar disso, estão diferentes.
– Aqui, está o Bernard – disse Louis. – Tem um ar composto; está à vontade. Abana a mala à medida que caminha. Dado que não tem medo de nada, o melhor que
tenho a fazer é segui-lo. Somos arrastados até à plataforma como se mais não fôssemos que galhos e palhinhas que a corrente faz girar em torno dos pilares de uma
ponte. Lá está aquela enorme máquina, poderosa, verde-garrafa, a soprar vapor. O guarda faz soar o apito; a bandeira é descida; sem qualquer esforço, no momento
exacto, como uma avalancha provocada por um pequeno empurrão, começamos a avançar. O Bernard estende uma manta e começa a estalar os dedos. O Neville lê. Londres
estremece. Londres eleva-se e ondula. Ali, vê-se um amontoado de torres e chaminés. Ali, uma igreja branca; ali, um mastro por entre as espirais. Ali, um canal.
Agora, surgem espaços abertos com caminhos de asfalto onde é estranho as pessoas andarem. Daquele lado, há uma colina manchada de casas vermelhas. Um homem atravessa
a ponte com um cão colado aos calcanhares. Agora, um rapaz vestido de vermelho dispara contra um faisão. Um outro, vestido de azul, dá-lhe um empurrão. O meu tio
é o melhor caçador de Inglaterra. O meu primo é o mestre da Liga dos Caçadores de Raposas. Começam as gabarolices. Só eu não me posso gabar, pois o meu pai é banqueiro
em Brisbane e falo com sotaque australiano.
– Depois de todo este reboliço – disse Neville –, depois de toda esta correria e reboliço, acabamos por chegar. Trata-se de um grande momento – de facto, trata-se
de um momento solene. Sinto-me como um Lord a entrar nos aposentos que lhe foram destinados. Aquele é o nosso fundador; o nosso ilustre fundador; e está colocado
no átrio com um dos pés levantados. Um ar austero e imperial paira por sobre estes pátios. As salas da frente têm as luzes acesas. Ali, devem ser os laboratórios;
ali a biblioteca. Será lá que explorarei as certezas do latim, que me sentirei à vontade nas frases bem construídas que lhe são características, e pronunciarei na
perfeição os hexâmetros sonoros de Virgílio e Lucrécio; e cantarei com grande paixão os amores de Catulo, tendo nas mãos um grande livro, um in-quarto com margens.
Para mais, deitar-me-ei nos campos, por entre as ervas. Deitar-me-ei com os meus amigos por baixo dos ulmeiros imponentes.
Reparem, lá está o director. Bom, o certo é que ele vem despertar o meu sentido do ridículo. É esguio em demasia. Para mais, é demasiado escuro e brilhante.
Parece as estátuas dos jardins. E, no lado esquerdo do colete, daquele colete esticado, sem uma ruga, pende um crucifixo.
– O velho Crane – diz Bernard – levanta-se para nos cumprimentar. O velho Crane, o director, tem um nariz que lembra uma montanha ao pôr do Sol, e a fenda
azul que lhe enfeita o queixo é como uma ravina coberta de árvores a quem tivessem lançado o fogo. Baloiça-se ligeiramente, pronunciando palavras imponentes e sonoras.
Adoro palavras imponentes e sonoras. Contudo, aquilo que ele diz é demasiado sincero para ser verdadeiro. Mesmo assim, está convencido de que fala verdade. E, quando
abandona a sala cambaleando pesadamente de um lado para o outro, depois do que passa por uma porta de vaivém, todos os professores lhe seguem o exemplo, cambaleando
pesadamente de um lado para o outro, passando a porta de vaivém. Trata-se da nossa primeira noite na escola, longe das nossas irmãs.
– Este é o meu primeiro dia na escola – disse Susan –, longe do meu pai, longe de casa. Tenho os olhos inchados; as lágrimas fazem-me arder os olhos. Odeio
o cheiro a pinheiro e a linóleo. Odeio os arbustos batidos pelo vento e os azulejos da casa de banho. Odeio os ditos divertidos e o olhar espantado de todos. Deixei
o meu esquilo e as minhas pombas a um rapaz, para que cuidasse dos animais. A porta da cozinha bate com força, e entre as folhas elevam-se disparos. É Percy, disparando
contra as gralhas. Tudo aqui é falso; tudo é prostituído. Vestidas de sarja castanha, Rhoda e Jinny estão sentadas do outro lado, a olhar para Miss Lambert, sentada
por baixo de um quarto onde se vê a rainha Alexandra a ler. Vê-se ainda um rolo azul. Trata-se do bordado de alguma das raparigas mais velhas. Se não aperto os dentes,
se não cravo os dedos no lenço, por certo que começo a chorar.
– A luz vermelha – disse Rhoda – , no anel de Miss Lambert move-se de um lado para o outro na mancha negra existente na página branca do livro de Orações.
É uma luz avinhada, amorosa. Agora que as nossas malas já foram desfeitas e tudo está nos dormitórios, sentamo-nos muito quietas por baixo de mapas de todo o mundo.
Há secretárias com poços cheios de tinta. Aqui, vamos ter de passar a fazer exercícios a tinta. Porém, aqui ninguém sou. Não tenho rosto. Esta gente, vestida de
sarja castanha, rouba-me a identidade. Somos todas frias, indiferentes. Terei de procurar um rosto, um rosto monumental e composto, dotá-lo com o dom da omnisciência
e usá-lo por baixo do vestido como se de um amuleto se tratasse. Só depois (prometo) encontrarei uma fresta na madeira onde esconderei a minha colecção de tesouros
curiosos. Prometo-o a mim mesma. É por isso que não vou chorar.
– Aquela mulher morena – disse Jinny – , com as maçãs do rosto bastante altas, tem um vestido brilhante como uma concha repleta de veios, próprio para usar
à noite. É bom para o Verão, mas para o Inverno gostava de ter um vestido muito fino, com laços vermelhos, destinado a brilhar à luz da lareira. Então, quando as
lâmpadas se acendessem, vestiria o meu vestido vermelho, fino como um véu, e entraria na sala, leve como uma pluma, a dançar. Quando me sentasse no meio da sala,
numa cadeira dourada, ficaria parecida com uma flor. Mas a Miss Lambert tem um vestido opaco, que lhe cai numa espécie de cascata a partir daquela gola branca. É
ela que está sentada por baixo do retrato da rainha Alexandra, pressionando o dedo com força contra a página. E nós rezamos.
– E lá vamos nós aos pares – disse Louis –, ordeiramente, marchando rumo à capela. Gosto da obscuridade que nos envolve quando chegamos ao edifício sagrado.
Gosto desta progressão ordenada. Formamos uma fila; sentamo-nos. Pomos de parte as diferenças quando aqui entramos. Gosto deste preciso momento, quando, a tropeçar,
o Dr. Crane sobe o púlpito e lê a lição a partir de uma Bíblia aberta nas costas de uma águia de bronze. Rejubilo; o meu coração aumenta ao ouvi-lo, ao escutar as
suas palavras autoritárias. Espalha nuvens de poeira na minha mente, tremula e ignominiosamente agitada, o modo como dançávamos em torno da árvore de Natal, recebendo
presentes, e de como descobri terem-se esquecido de mim. Ao se aperceber disto, uma mulher gorda disse: “Este rapazinho não recebeu presentes”, tendo-me depois entregue
um dos enfeites da árvore, e eu chorei de raiva, por terem pena de mim. Agora, o seu crucifixo, a sua autoridade, tudo põe ordem nas coisas, e eu volto a sentir
a terra que piso, e as minhas raízes descem cada vez mais até se enrolarem em torno de qualquer coisa de sólido que está lá bem no centro. À medida que ele lê, recupero
o sentido de continuidade. Transformo-me numa das figuras da procissão, um dos elementos daquela enorme roda que não pára de girar, elevando-me de vez em quando.
Tenho estado às escuras; tenho estado escondido; mas quando a roda gira (quando ele lê) elevo-me até esta luz difusa onde quase mal me apercebo de um grupo de rapazes
ajoelhados, e de uma série de pilares e placas fúnebres.
Aqui, não há qualquer espécie de crueza, de beijos rápidos.
– Aquele animal ameaça a minha liberdade sempre que reza – disse Neville. – Desprovidas de imaginação, as suas palavras atingem-me como pedras da calçada,
mais ou menos ao mesmo ritmo que a cruz doirada que traz à cintura baloiça.
As palavras de autoridade são corrompidas por aqueles que as pronunciam. Zombo e troço desta triste religião, destas figuras tristes e abatidas pela dor, cadavéricas
e feridas, que vão descendo um caminho esbranquiçado, ladeado por figueiras, e onde um bando de garotos se rebola no pó, garotos nus; e os odres de pele de cabra
onde se guarda o vinho estão pendurados à porta das tabernas. Estive em Roma com o meu pai durante a Páscoa, e vi a figura tremula da mãe de Cristo ser transportada
aos solavancos pelas ruas, o mesmo se passando com um Cristo abatido dentro de uma redoma de vidro.
Agora, vou-me inclinar para o lado como se fosse coçar a perna. E a única maneira que tenho de ver o Percival. Lá está ele, sentado no meio dos mais pequenos.
Respira com alguma dificuldade através do nariz. Os olhos azuis, estranhamente inexpressivos, fixam-se com uma indiferença pagã no pilar em frente. Dará um magnífico
funcionário da igreja. Dar-lhe-ão uma vara para que possa bater aos rapazinhos que se portem mal. É um dos aliados das frases latinas escritas no memorial de bronze.
Nada vê; nada ouve. Está longe de todos nós, num universo pagão. Mas olhem – acaba de levar a mão à nuca.
São gestos como estes que provocam paixões eternas, desesperadas. O Dalton, o Jones, o Edgar e o Bateman também levam as mãos ao pescoço. Mas não é a mesma
coisa.
– Por fim – disse Bernard – , o ruído pára. O sermão termina. Ele falou com elegância a respeito do voo das borboletas. A sua voz dura e hirsuta é como um
queixo por barbear. Volta agora aos tropeções para a cadeira. Parece um marinheiro embriagado. Trata-se de uma acção que todos os outros mestres tentarão imitar;
mas, e dado serem fracos, dado serem moles e usarem calças cinzentas, nunca conseguirão ser ridículos. Não os vou desprezar. As suas bizarrias são dignas de pena.
Trata-se de mais um entre os muitos factos que registrarei no meu livro de notas, com vista a consultas futuras. Quando for grande, andarei sempre com um bloco-notas,
um bloco bastante grande e com muitas páginas, todas metodicamente organizadas por ordem alfabética. Tomarei nota de todas as frases. Na letra B colocarei pó de
borboleta. Se, no meu livro, descrever o sol poisado no parapeito da janela, procurarei na letra B de pó de borboleta. Ser-me-á de grande utilidade. As folhas verdes
das árvores projectam os seus dedos esguios na janela. Ser-me-á útil. Mas caramba! Distraio-me com tanta facilidade, por causa de um cabelo torcido como um chupa-chupa,
pelo livro de orações da Celia, revestido a marfim. O Louis pode contemplar a natureza durante horas; sem pestanejar. Contudo, só sou capaz de o fazer se falarem
comigo. O lago da minha mente, onde não há vestígio de remos, é tão liso como um espelho, e não demora muito a se afundar numa sonolência oleosa. Ser-me-á bastante
útil.
– E lá vamos nós a sair deste templo sombrio, de volta aos pátios amarelos – disse Louis. – E, dado estarmos num feriado (é o aniversário do Duque), iremos
sentar-nos na erva alta enquanto eles jogam críquete. Se assim o quisesse, podia ser um deles; poria as caneleiras e correria pelo campo, na direcção do distribuidor.
Reparem só como todos vão atrás do Percival. É um indivíduo grande. Desce o campo de forma desajeitada, atravessa a erva alta e dirige-se para junto dos ulmeiros.
A sua magnificência assemelha-se à de um chefe medieval. Um rasto de luz parece segui-lo pela erva. Reparem no modo como o seguimos, nós, os seus fiéis seguidores,
apenas para sermos abatidos como carneiros, pois, por certo que ele nos arrastará para uma empresa arriscada, durante a qual acabaremos por perder a vida. O meu
coração endurece; transforma-se numa faca de dois gumes: de um lado, a adoração que tenho pela sua magnificência; do outro, o desprezo que nutro pela forma pouco
cuidada como fala, eu, que lhe sou superior em todos os aspectos, e invejo-o.
– E agora – disse Neville –, deixemos o Bernard começar. Ele que nos conte histórias enquanto aqui estamos deitados. Ele que descreva aquilo que todos vimos
até que os factos formem uma sequência. O Bernard diz que tudo tem uma história. Eu sou uma história. O Louis é outra história. Há ainda a história do rapaz do barco,
a do homem só com um olho, e a da mulher que vende moluscos. Ele que gagueje as suas histórias enquanto me deito de costas e, através da erva que estremece, e olho
para as pernas hirtas dos distribuidores, enfeitadas de caneleiras. É como se o mundo inteiro se curvasse e flutuasse, as árvores na terra, as nuvens no céu. Olho
através das árvores e vejo o céu. Dá a impressão de que é lá que estão a jogar. Por entre as nuvens brancas e fofas chegam-me algumas frases aos ouvidos: Corre,
e Como é que isso é possível. À medida que o vento as descompõe, as nuvens vão perdendo tufos de brancura. Se aquele azul pudesse ficar sempre assim; se aquele buraco
pudesse ficar sempre assim; se este momento pudesse ser eterno...
Mas o Bernard continua a falar. E lá vão elas a subir – as imagens. “Como um camelo”... “um abutre”. O camelo é um abutre; o abutre é um camelo; não nos devemos
esquecer que o Bernard é como um fio solto, sempre a estremecer, mas bastante sedutor. Sim, porque quando ele fala, quando faz estas comparações idiotas, uma espécie
de leveza cai sobre nós.
Sentimo-nos flutuar como se fôssemos bolas de sabão; sentimo-nos livres; “escapei-me”, sentimos. Até mesmo os rapazes mais pequenos (o Dalton, o Larpente e
o Baker) sentem o mesmo abandono. Gostam mais disto que do críquete. Apanham as frases quando estas se elevam. Deixam que as ervas lhes façam cócegas no nariz. E
é então que sentimos o Percival sentar-se pesadamente ao nosso lado. As suas gargalhadas grosseiras parecem repreender o nosso riso. No entanto, ele agora estirou-se
em cima da erva. Penso que está a morder um qualquer caule. Está aborrecido; e também me sinto aborrecido. O Bernard de pronto se apercebe do facto. Detecto um certo
esforço, uma certa extravagância nas suas palavras, como se quisesse dizer “Olhem!”, mas o Percival diz “Não”. Claro que ele é sempre o primeiro a detectar a insinceridade,
sendo terrivelmente brutal. A frase vai morrendo aos poucos. Sim, chegou o momento horrível em que os poderes do Bernard o abandonam e a sequência deixa de ter sentido.
Ele gagueja e acaba por parar, arquejando, como se estivesse prestes a irromper em pranto. Entre as torturas e devastações da vida encontra-se esta: a de os nossos
amigos não serem capazes de concluir as suas histórias.
– Antes de nos levantarmos – disse Louis –, antes de irmos lanchar, deixa-me fazer o esforço supremo e tentar fixar o momento. Isto durará para sempre. Separamo-nos;
alguns vão lanchar; outros dormir a sesta; eu vou mostrar o meu ensaio a Mr. Baker. Isto durará para sempre. A partir da discórdia, do ódio (desprezo todos os que
se ocupam de imagens só para passar o tempo, ressinto-me bastante do poder do Percival), a minha mente desunida volta a ligar-se devido a uma súbita percepção. Peço
às árvores e às nuvens que testemunhem a minha completa integração. Eu, Louis, eu, que andarei na terra durante os próximos setenta anos, renasci inteiro a partir
do ódio e da discórdia. Aqui, neste círculo de erva, sentamo-nos juntos devido ao enorme poder de uma compulsão interior. As árvores estremecem, as nuvens passam.
Aproxima-se o momento em que estes solilóquios serão partilhados. Não ficaremos para sempre a produzir sons semelhantes às batidas de um gongo, cada pancada seguindo-se
a uma nova sensação. Crianças, as nossas vidas assemelham-se a pancadas de gongos; clamores e bazófias; gritos de desespero; pancadas na nuca desferidas nos jardins.
Agora, a erva e as árvores, o ar viajante que com o seu sopro abre espaços vazios no azul apenas para os voltar a fechar, as folhas tremulas que se sobrepõem
umas às outras, e o círculo por nós formado, os braços em torno dos joelhos, tudo isto aponta para uma ordem nova e melhor, a qual torna a ser razão eterna. Percepciono
isto durante um segundo, e esta noite tentarei fixá-lo em palavras, forjar uma espécie de anel de aço, muito embora o Percival o destrua quando avança por entre
a erva, seguido pela sua corte de servidores mais pequenos. Contudo, é do Percival que preciso, pois é ele quem inspira a poesia.
– Há quantos meses – disse Susan –, há quantos anos ando a subir estas escadas, tanto nos dias escuros de Inverno como nos dias gelados de Primavera? Estamos
agora no pino do Verão. Temos de ir lá acima pôr os vestidos brancos próprios para jogar tênis, a Jinny e eu, e a Rhoda atrás de nós. Conto os degraus à medida que
os subo, e logo os considero como coisas acabadas. É por isso que todas as noites arranco o dia velho do calendário e o amachuco até ele se transformar numa bola.
Faço isto por vingança, enquanto a Betty e a Clara estão de joelhos. Eu não rezo. Vingo-me do dia. Descarrego o meu ódio na sua imagem. “Estás morto”, digo, dia
de escola, dia odiado. Fizeram com que todos os dias de Junho, este é o vigésimo quinto, fossem brilhantes e ordenados, com gongos, aulas, ordens para nos lavarmos,
para mudarmos de roupa, para comermos, para trabalharmos. Ouvimos os missionários da China. Levam-nos de automóvel a ver concertos em grandes salões. Mostram-nos
galerias e quadros.
Lá em casa, o feno ondula nos prados. O meu pai está encostado à vedação, a fumar. Dentro de casa, as portas batem uma a seguir à outra, devido às correntes
de ar que circulam pelas passagens vazias. Alguns dos quadros velhos talvez se baloicem nas paredes. Há uma pétala de rosa a cair de uma jarra. As carroças da quinta
espalham tufos de feno pela sebe. Vejo tudo isto (é aquilo que sempre vejo) quando passo pelo espelho do andar térreo, com a Jinny à frente e a Rhoda atrás. A Jinny
dança. Nunca pára de dançar, nem mesmo nas feias tijoleiras da entrada; vira os carrinhos que estão no recreio; apanha as flores às escondidas e coloca-as atrás
da orelha, o que faz com que os olhos escuros da Miss Perry se abram de admiração. Pela Jinny, claro, não por mim. A Miss Perry adora, e talvez eu mesma a pudesse
ter adorado, só que não amo mais ninguém para além do meu pai, das minhas pombas e do esquilo que deixei em casa, aos cuidados de um rapaz.
– Odeio o espelho pequenino da escada – disse Jinny. – Mostra apenas as nossas cabeças. Decapita-nos. E os meus olhos são demasiado juntos, a minha boca é
demasiado grande; mostro as gengivas quando rio. A cabeça da Susan, com o seu aspecto bravio e os seus olhos verde-musgo, que, e de acordo com o Bernard, estão destinados
a ser amados pelos poetas, porque se fixam nas coisas, põe a minha a um canto. Até mesmo o rosto da Rhoda, redondo, vazio, está completo, mais ou menos como as pétalas
que ela costumava baloiçar na taça. É por isso que lhes passo à frente e me precipito para o andar seguinte, onde está pendurado um espelho muito maior, onde me
posso ver inteira. Vejo o meu corpo e a minha cabeça; pois que mesmo com este vestido de sarja eles são unos, o corpo e a cabeça. Reparem, o simples facto de mexer
a cabeça faz com que todo o corpo ondule; até mesmo as minhas pernas magras ondulam como caules ao vento. Brilho entre o rosto bem definido da Susan e a imprecisão
da Rhoda; elevo-me como uma dessas chamas que correm por entre as fendas da terra; movo-me; danço; nunca paro de me mover nem de dançar. Movo-me como se moveu aquela
folha na vedação, quando eu era criança, assustando-me. Danço por sobre estas paredes manchadas, impessoais, que ganham uma coloração amarelada sempre que a luz
do lume paira por sobre os bules do chá. Desperto o fogo mesmo nos olhares mais finos das mulheres. Quando leio, uma orla vermelha bem delimitar os contornos negros
do livro. Contudo, não posso acompanhar todas as mudanças das palavras. Não consigo acompanhar uma linha de pensamento que se dirija do presente para o passado.
Não me posso perder, como a Susan, com as lágrimas nos olhos, lembrando-se de casa; ou deitar-me, como a Rhoda, entre os fetos, manchando de verde o meu vestido
cor-de-rosa, enquanto sonho a respeito de plantas que florescem debaixo das águas do mar, e de rochas por entre as quais os peixes nadam devagar. Para ser franca,
nem sequer sonho.
Bom, vamos lá a despachar. Deixa-me ser a primeira a tirar estas roupas ásperas. Aqui, estão as minhas meias brancas, impecavelmente limpas. Aqui, estão os
meus sapatos novos. Vou atar uma fita ao cabelo para que, quando correr pelo court, ela brilhe com a velocidade de um relâmpago, sem, no entanto, sair do seu lugar.
Nem um só cabelo ficará em desalinho.
– Esta é a minha cara – disse Rhoda –, a cara que aparece por detrás do ombro da Susan sempre que passamos frente ao espelho. Bom, não há dúvida de que se
trata da minha cara. Mas eu vou-me esconder atrás dela para a tapar, pois não estou aqui. Não tenho rosto. As outras pessoas têm-no; a Susan e a Jinny têm rostos;
estão aqui. O mundo delas é um mundo real. As coisas em que pegam são pesadas. Dizem Sim, dizem Não. Enquanto isso, eu estou sempre a mudar e desapareço num segundo.
Se se cruzam com uma das criadas, estas nunca se riem delas. Mas riem-se de mim. Elas sabem o que dizer. Elas riem de verdade, elas zangam-se de verdade.
Enquanto isso, eu tenho de ver primeiro o que as outras pessoas fazem para depois as imitar.
Reparem só na extraordinária convicção com que a Jinny puxa as meias, e isto apenas para jogar tênis. Admiro-a por isso. Mas gosto ainda mais dos modos da
Susan, já que é mais resoluta e menos ambiciosa que a Jinny. Ambas me desprezam por as imitar, mas às vezes a Susan ensina-me a fazer algumas coisas, por exemplo,
a apertar um laço, ao passo que a Jinny guarda tudo o que sabe para si mesma. Ambas têm amigas ao lado de quem se sentam. Mas eu apenas me ligo a nomes e a rostos,
usando-os como amuletos contra os desastres. Escolho uma cara desconhecida de entre todas as que se encontram do lado oposto ao que me encontro, e mal consigo beber
o chá quando aquela cujo nome desconheço se senta à minha frente. Sufoco. A emoção faz-me abanar de um lado para o outro.
Imagino toda esta gente anônima e imaculada a espreitar-me por detrás dos arbustos. Elevo-me nos ares para lhes fazer aumentar a admiração. De noite, na cama,
faço-as pasmar por completo. É com frequência que morro cravejada de setas apenas para as fazer chorar. Se elas dizem, ou se vê através de uma das etiquetas das
malas, que estiveram em Scarborough durante as últimas férias, a cidade resplandece, as ruas tornam-se douradas. É por isso que odeio os espelhos que mostram o meu
verdadeiro rosto. Quando estou só, é com frequência que me deixo cair no vazio. Tenho de ter cuidado e ver onde ponho os pés, não vá tropeçar na orla do mundo e
cair no vazio. Tenho de bater com a cabeça nas paredes para poder voltar ao meu próprio corpo.
– Estamos atrasadas – disse Susan. – Temos de esperar pela nossa vez de jogar. Enquanto isso, vamos ficar na erva a fingir que estamos a ver a Jinny e a Clara,
a Betty e a Mavis. Mas o certo é que não lhes prestamos a mais pequena atenção. Odeio ver os outros jogar. Vou construir imagens de tudo aquilo que odeio e enterrá-las
no chão. Este seixo brilhante é a Madame Carlo, e vou enterrá-la devido aos seus modos insinuantes, e também por causa dos seis dinheiros que me deu por não ter
dobrado os dedos quando praticava as escalas. Enterrei os seis dinheiros. Enterraria toda a escola: o ginásio, a sala de aulas, a sala de jantar que cheira sempre
a carne; e a capela. Enterraria as tijoleiras vermelhas e os retratos a óleo de todos aqueles velhos, benfeitores, fundadores da escola. Gosto de algumas árvores;
da cerejeira e dos montes de seiva clara que se acumulam na sua casca; e das montanhas distantes que se vêem de uma das janelas do sótão. Fora isso, enterraria tudo
o mais como enterro estas feias pedras que se encontram por toda esta costa salgada, com os seus molhes e turistas. Lá em casa, as ondas têm milhas de comprimento.
Ouvimo-las ribombar nas noites de Inverno. No Natal passado, um homem afogou-se quando estava sozinho na sua carroça.
– Quando a Miss Lambert passa – disse Rhoda –, a conversar com o vigário, todos se riem e imitam a corcunda que ela tem nas costas. Contudo, as coisas todas
mudam e ficam luminosas. Até mesmo a Jinny salta mais alto à sua passagem. Se ela olhar para aquela margarida, esta muda. Para onde quer que vá, tudo se altera debaixo
dos seus olhos; e, no entanto, depois de ela partir, será que as coisas não voltam a ser o que eram? Miss Lambert conduz o vigário através do portão e fá-lo entrar
no seu jardim particular; e, quando alcançam o lago, ela vê um sapo num nenúfar, e também isso muda. Tudo é solene, tudo é pálido no local onde ela se encontra,
semelhante a uma estátua no jardim. Acaba por deixar cair a capa de seda enfeitada com borlas, e só o seu anel cor de púrpura continua a brilhar, o seu anel cor
de vinho, cor de ametista. Quando as pessoas nos deixam, atrás delas fica sempre um rasto de mistério. Quando a Miss Lambert passa, as margaridas ficam diferentes;
e, quando trincha a carne, à sua volta elevam-se chispas de fogo. Mês após mês, as coisas começaram a perder a sua dureza; até mesmo o meu corpo começa a deixar
passar a luz; a minha espinha está macia como um pedaço de cera colocado junto à chama de uma vela. Sonho; sonho.
– Ganhei o jogo – disse Jinny – Agora, é a vossa vez. Tenho de me atirar para o chão e arfar. A corrida e o triunfo deixaram-me sem fôlego. A corrida e o triunfo
parecem ter gasto tudo o que tinha no corpo. O meu sangue deve ser agora de um vermelho muito vivo, saltando e batendo de encontro às veias. Sinto picadas na sola
dos pés, mais ou menos como se lhes estivessem a espetar fios de metal. Distingo com grande clareza os recortes de todas as ervas. Mas o sangue pulsa-me com tanta
força nas têmporas, por detrás dos olhos, que tudo parece dançar, a rede, a erva; os vossos rostos palpitam como borboletas, as árvores parecem saltar para cima
e para baixo. Neste universo não existe nada de estável, nada de imóvel. Tudo se move, tudo dança; tudo é rapidez e triunfo. Só que, depois de me ter deitado sozinha
no solo duro, a ver-vos jogar, começo a sentir vontade de ser escolhida, de ser chamada, de que uma pessoa me venha buscar de propósito, de alguém que se sinta atraído
por mim e que venha ter comigo sempre que me sento na minha cadeira dourada, com o vestido caindo à minha volta como se fosse uma flor. E, retirando-nos para longe
da multidão, sentar-nos-emos na varanda, a conversar.
Agora, a maré acaba por baixar. As árvores aproximam-se da terra; as ondas bravias que fustigam as minhas veias começam a agitar-se mais devagar, e o meu coração
prepara-se para ancorar, como um veleiro, cujas velas se recolhem e caem por sobre um convés imaculado. O jogo terminou. Está na hora de ir lanchar.
– Os gabarolas – disse Louis –, acabaram de formar uma enorme equipa para jogar críquete. Afastaram-se, cantando a plenos pulmões.Todas as cabeças se viram
ao mesmo tempo quando chegam àquela esquina, ali, onde estão os loureiros. Já se começaram a gabar. O irmão do Larpent jogou futebol pela equipa de Oxford; o pai
do Smith pertenceu à centúria dos Lordes. O Archie e o Hugh; o Parker e o Dalton; o Larpent e o Smith, os nomes vão-se repetindo; os nomes são sempre os mesmos.
Eles são os voluntários; são os jogadores de críquete; são os funcionários da Natural History Society. Andam sempre em grupos de quatro e marcham em bandos com insígnias
nos bonés; e, sempre que passam pelo chefe, saúdam-no em uníssono. Como a sua ordem é majestosa, como a sua obediência é bela! Se pudesse, sacrificaria tudo para
estar com eles. Contudo, são também eles que arrancam as asas às borboletas; são eles que atiram lenços manchados de sangue para os cantos. São eles quem fazem soluçar
os garotos pequenos nas passagens escuras. Têm orelhas grandes e vermelhas que lhes saem dos bonés. Mesmo assim, é com eles que eu e o Neville nos queremos parecer!
É com inveja que os vejo partir. A espreitar atrás da cortina, delicio-me a observar o modo como avançam em simultâneo. Se as minhas pernas pudessem ter o poder
das deles, como correriam depressa! Se tivesse estado com eles, ganho desafios e participado em corridas importantes, com que força não cantaria quando chegasse
a meia-noite! Com que rapidez as palavras não jorrariam da minha garganta!
– O Percival já foi – disse Neville. – Não pensa em mais nada a não ser no jogo. Nunca acena quando a equipa vira a esquina, junto aos loureiros. Despreza-me
por ser demasiado fraco para jogar (muito embora a minha fraqueza lhes desperte simpatia). Despreza-me por não me importar com o facto de saber se ganharam ou perderam,
mas sim de apenas querer saber daquilo que lhe interessa. Aceita a minha devoção; aceita a minha oferta tremula (sem dúvida que abjecta), muito embora nela se encontre
uma certa dose de desprezo pela sua mente. É que ele não sabe ler. Mesmo assim, quando me deito na relva a ler Catulo ou Shakespeare, ele compreende tudo melhor
que o Louis. Não me estou a referir às palavras – afinal, que são elas? Não saberei já como rimar, como imitar Pope, Dryden, até mesmo Shakespeare? Contudo, não
posso estar todo o dia ao sol a olhar para a bola; não posso sentir os movimentos da bola através do meu corpo e pensar apenas nela. Viverei sempre agarrado aos
contornos das palavras. Todavia, seria incapaz de viver com ele e suportar toda a sua estupidez. Por certo que praguejará e ressonará. Acabará por casar e fazer
cenas de ternura durante o pequeno-almoço. Mas agora ainda é novo. É como uma folha de papel, e não como uma rede, aquilo que se estende entre ele e o mundo, entre
ele e a chuva, entre ele e a lua, quando se deita na cama, o corpo nu e quente. Agora, à medida que sobem o caminho, o seu rosto está manchado de vermelho e amarelo.
Acabará por despir o casaco e firmar-se de pernas abertas, as mãos prontas, os olhos postos nos três paus horizontais que se elevam no campo. Os seus lábios murmurarão
“Meu Deus faz com que ganhemos”; não pensará em outra coisa para além da vitória.
Como é que alguma vez me poderei juntar a uma equipa de críquete? Só o Bernard o poderia fazer, mas já é tarde demais para isso. Ele chega sempre tarde demais.
É a sua incorrigível melancolia que o impede de ir com eles. Quando lava as mãos, pára para dizer: “Está uma mosca naquela teia. Deverei libertá-la? Deverei deixar
que a aranha a coma?”. Preocupa-se com um sem-número de insignificâncias. Se assim não fosse, teria ido jogar críquete com eles, e talvez agora estivesse deitado
na relva, a olhar o céu, sobressaltando-se ao ouvir o som dos tacos a bater na bola. Mas, e dado que lhes contaria uma história, os outros acabariam por lhe perdoar.
– Já se foram embora – disse Bernard –, e eu atrasei-me demais e já não posso ir com eles. Aqueles rapazinhos horríveis, que também são muito belos, e de quem
tu e o Louis, Neville, têm tanta inveja, afastaram-se com as cabeças voltadas na mesma direcção. No entanto, não me apercebo destas diferenças profundas. Os meus
dedos percorrem as teclas sem se aperceberem quais as que são brancas e as que são pretas. O Archie não tem qualquer dificuldade em chegar às cem; eu só por sorte
consigo fazer quinze. Mas qual a diferença entre nós?
Espera um pouco, Neville, deixa-me falar. As bolhas vão-se elevando como as bolas prateadas que se elevam do fundo de uma frigideira; imagem atrás de imagem.
Não me consigo agarrar aos livros com a tenacidade feroz que caracteriza o Louis. Tenho de abrir a portinhola da ratoeira e deixar escapar estas frases ligadas umas
às outras, nas quais me movimento. Assim, e em vez de um sistema incoerente, vemos antes uma teia suave, capaz de unir as coisas umas às outras. Vou-te contar a
história do professor.
Quando, depois das orações, o Dr. Crane atravessa as portas de vaivém a cambalear, ficamos com a sensação de que ele está convencido da sua superioridade.
De facto, Neville, não podemos negar que a sua partida não só nos deixa com uma enorme sensação de alívio mas também com a impressão de que nos tiraram algo, por
exemplo, um dente. Vamos então segui-lo até aos seus aposentos. Vamos imaginá-lo no quarto que lhe pertence, por cima dos estábulos, a despir-se. Desaperta os elásticos
que lhe podem prender as meias (sejamos triviais, sejamos íntimos). Depois, com um gesto que lhe é peculiar (é difícil evitar estas frases feitas, e, neste caso
concreto quando elas até se mostram apropriadas), tira as moedas dos bolsos das calças e coloca-as aos molhos em cima da cômoda. Com os braços apoiados nos braços
da cadeira, reflecte (este é o seu momento de privacidade; é aqui que o devemos tentar apanhar): deverá ele atravessar a ponte cor-de-rosa que o leva até ao quarto
contíguo, ou não? Os dois quartos estão unidos por uma ponte de luz cor-de-rosa que vem do candeeiro colocado junto a Mrs. Crane que, com a cabeça apoiada na almofada,
lê um livro de memórias em francês. Enquanto lê, passa a mão pela testa num gesto de abandono e desespero, e suspira “é tudo?”, comparando-se a uma qualquer duquesa
francesa. Só faltam dois anos para me reformar, diz o director. Irei aparar sebes num jardim da zona ocidental do país. Poderia ter sido almirante; talvez mesmo
juiz; nunca um professor. Que forças, pergunta, olhando para o fogão a gás com os ombros ainda mais curvados que o costume (não te esqueças de que está em mangas
de camisa), me terão transformado nisto? Que forças poderosas, pensa, deixando-se levar pelas frases bombásticas de que tanto gosta, ao mesmo tempo que, por cima
do ombro, espreita pela janela. A noite é de tempestade, os ramos da avelaneira não param de andar para baixo e para cima. As estrelas brilham entre eles. Que forças
poderosas do bem e do mal me terão trazido até aqui?, pergunta, e, não sem algum desgosto, repara que o pé da cadeira fez um buraco na carpete vermelha. E ali está
ele sentado, a abanar os braços. Contudo, são difíceis as histórias que seguem as pessoas até aos seus quartos. Não consigo prosseguir esta história. Estou a brincar
com um cordel; viro as quatro ou cinco moedas que tenho no bolso das calças.
– No princípio, as histórias do Bernard divertem-me sempre – disse Neville. – Mas, quando terminam de forma absurda, e ele se cala, a brincar com um qualquer
pedaço de cordel, sinto a minha própria solidão. Ele vê todas as coisas com os contornos desmaiados. É por isso que não lhe posso falar do Percival. Não posso expor
a minha paixão absurda e violenta à sua simpatia compreensiva. Também ela serviria para fazer uma história. Preciso de alguém cuja mente caia como um machado no
seu cepo; para quem o cúmulo do absurdo seja sublime, e considere um simples atacador como algo digno de admiração. A quem poderei desvendar a urgência da minha
paixão? O Louis é demasiado frio, demasiado universal. Não há ninguém aqui entre estas arcadas cinzentas, estes tolos que se lamentam, estes jogos e animadas tradições,
tudo organizado com grande mestria para que não nos sintamos sós. Porém, vejo-me obrigado a parar enquanto caminho, assaltado por súbitas premonições relacionadas
com o que há-de vir Ontem, quando ia a passar o portão do pátio interior, vi o Fenwick levantar o malho. Uma nuvem de vapor elevava-se do bule de chá. Por toda a
parte se viam canteiros de flores azuis. Então, de repente, desceu sobre mim o sentido obscuro e místico da adoração, do uno que triunfa sobre o caos. Ninguém adivinhou
a necessidade que senti de oferecer o meu ser a um deus e depois perecer, desaparecer. O malho desceu; a visão quebrou-se.
Deverei sair ao encontro das árvores? Deverei abandonar estas salas e bibliotecas? Deverei abandonar as enormes páginas amarelas onde leio Catulo, trocando-as
por bosques e campos? Deverei caminhar por entre as faias, ou vaguear ao longo da margem do rio, onde as árvores se unem como amantes? Porém, a natureza é demasiado
vegetal, demasiado insípida. Limita-se a possuir água e folhas, vastidão e espaços sublimes. Começo a desejar uma lareira, um pouco de privacidade, e também os membros
de outra pessoa.
– Começo a desejar – disse Louis –, que a noite chegue. Enquanto aqui estou, a mão apoiada no painel de carvalho que constitui a porta de Mr. Wickham, imagino
que sou um dos amigos de Richelieu, ou mesmo o duque de St. Simon, estendendo ao rei uma caixa de rapé. Trata-se de um privilégio que é só meu. A minha inteligência
espalha-se pela corte como fogo. Admiradas, as duquesas despojam-se dos anéis de esmeralda, porém, estes foguetes elevam-se melhor na escuridão da noite, quando
estou no quarto. Não passo de um rapaz com um sotaque colonial que bate à porta de Mr. Wickham com os nós dos dedos. O dia revelou-se como algo cheio de triunfos
e humilhações que tive de esconder com medo do riso dos outros. Sou o melhor aluno da escola. Mas, quando a noite cai; despojo-me deste corpo insignificante, do
meu enorme nariz, dos lábios finos, da pronúncia típica das colônias, e ocupo espaço. Sou, então, o companheiro de Virgílio e Platão. Passo a ser o último descendente
de uma das grandes casas da França. Mas sou também aquele que se obriga a abandonar estas paragens desertas e iluminadas pelo luar, estes passeios nocturnos, confrontando-se
com portas de carvalho. Acabarei por conseguir, queira Deus que não demore muito, uma qualquer mistura destas duas discrepâncias, tão terrivelmente evidentes para
mim. Consegui-lo-ei com o meu sofrimento. Vou bater à porta. Vou entrar.
– Arranquei todos os dias de Maio e Junho – disse Susan –, e ainda vinte dias de Julho. Arranquei-os e amachuquei-os até nada mais serem que um punhado de
papéis a meu lado. Foram dias difíceis de passar, como borboletas de asas queimadas pelo sol, incapazes de voar. Já só faltam oito dias. Daqui a oito dias, às seis
e vinte e cinco, descerei do comboio e poisarei os pés na plataforma. Então, a minha liberdade desfraldará as velas, afastando para bem longe estas restrições que
queimam e enchem de pregas – horas de ordem e disciplina, e o estar aqui no momento preciso. O dia desabrochará no preciso momento em que abrir a porta da carruagem
e vir o meu pai, com o seu velho chapéu e polainas. Tremerei. Debulhar-me-ei em lágrimas. Depois, na manhã seguinte, levantar-me-ei ao amanhecer. Sairei pela porta
da cozinha. Irei passear na charneca. Os enormes cavalos dos cavaleiros fantasmas correrão atrás de mim apenas para parar subitamente. Verei a andorinha vasculhar
a erva, procurando alimento. Deixar-me-ei cair na margem do rio e ficarei a ver os peixes deslizar por entre as canas. As palmas das minhas mãos ficarão cheias de
marcas provocadas pelas agulhas dos pinheiros. Lá conseguirei tirar de dentro de mim aquilo que aqui foi construído; qualquer coisa dura. Sei que, ao longo dos invernos
e verões que aqui passei, qualquer coisa se formou nas escadas e nos quartos. Ao contrário da Jinny, não quero ser admirada. Não quero que as pessoas levantem os
olhos e me fitem, admiradas, sempre que entro numa sala. Quero dar, dar-me, e preciso de solidão, da solidão que me permitirá revelar tudo o que possuo.
Depois, voltarei para casa caminhando através dos carreiros estreitos que se ocultam por baixo dos arcos formados pelas folhas das avelaneiras. Passarei por
uma velha que empurra um carrinho cheio de pauzinhos; e pelo pastor. Contudo, não trocaremos qualquer palavra. Voltarei a atravessar o jardim frente à cozinha, e
verei as folhas das couves carregadas de gotas de orvalho, e a casa no meio do jardim, cega devido às janelas cheias de cortinas. Subirei as escadas que levam ao
quarto e passarei revista a tudo aquilo que possuo e que está fechado com todo o cuidado no guarda-vestidos: as minhas conchas; os meus ovos; as minhas ervas estranhas.
Darei de comer às pombas e ao esquilo. Irei até ao canil escovar o pêlo do cão. Assim, aos poucos, acabarei por expulsar esta coisa dura que cresceu aqui comigo,
do meu lado. Contudo, as campainhas não param de tocar; os pés arrastam-se pelo chão num movimento perpétuo.
– Detesto a escuridão, o sono e a noite – disse Jinny –, e não me canso de esperar pelo dia. Gostava que a semana fosse apenas um dia, sem quaisquer divisões.
Quando acordo cedo, e são os pássaros que me acordam, fico deitada a ver os puxadores de bronze do armário tornarem-se mais claros; depois a bacia; depois o toalheiro.
À medida que as coisas no quarto se vão tornando mais claras, o coração bate-me mais depressa. Sinto o corpo enrijecer e tornar-se cor-de-rosa, amarelo, castanho.
Passo as mãos pelo corpo e pelas pernas. Sinto os seus declives, a sua espessura. Adoro ouvir o gongo ecoar pela casa, dando assim início ao ruído, aqui um baque,
ali uma rápida sucessão de passos. As portas batem; a água corre. “Começou outro dia, começou outro dia!”, exclamo, pondo os pés no chão. Pode muito bem não vir
a ser um dia bom, antes se revelando imperfeito. É com frequência que me repreendem. É com frequência que caio em desgraça por ser preguiçosa e me estar sempre a
rir; mas mesmo quando Miss Mathews resmunga qualquer coisa sobre o quanto sou cabeça-de-vento, consigo captar algo que se move – talvez uma mancha de sol poisada
num quadro, ou o burro puxando a máquina de ceifar através da encosta; ou uma vela passando por entre as folhas do loureiro. O certo é que não me deixo abater. Miss
Mathews não me pode impedir de dar graças.
Está a chegar a hora de deixar a escola e usar saias compridas. Durante a noite usarei muitos colares e um vestido branco, sem mangas. Irei a muitas festas
em salões iluminados; e um homem acabará por me escolher, dizendo-me o que nunca antes disse a mais ninguém. Gostará mais de mim que da Susan ou da Rhoda. Verá em
mim uma qualquer qualidade, uma característica particular. Todavia, não me deixarei prender por uma única pessoa. Não quero ser presa, pregada. Tremo e estremeço,
tal como uma folha abandonada ao vento, quando me sento na cama a abanar os pés, como um dia novo à frente, pronto para ser descoberto. Tenho à minha frente cinquenta,
sessenta anos para gastar. Ainda não preciso de começar a usar as reservas. Estou apenas no começo.
– Passam-se horas e horas – disse Rhoda –, antes de poder apagar a luz e deitar-me na cama, suspensa por sobre o mundo, antes de poder deixar cair o dia, antes
de poder deixar crescer a minha árvore, estremecendo por sobre mim em grandes pavilhões verdes. Aqui não a posso deixar crescer. Há sempre alguém pronto a deitá-la
abaixo. Não param de me fazer perguntas e de me interromper.
Agora vou até à casa de banho, tiro os sapatos e lavo-me; mas, enquanto me lavo, enquanto baixo a cabeça para a bacia, deixo que o véu da imperatriz russa
flutue à altura dos meus ombros. Na testa brilham-me os diamantes da coroa imperial. Ouço o rugir da tuba hostil quando me aproximo da varanda. Agora, esfrego as
mãos com tal força, que a Miss (esqueci-me do nome) não consegue suspeitar que estou a ameaçar com o punho a multidão enraivecida. “Sou a vossa imperatriz, gentalha.”
A minha atitude é de desafio. Não tenho medo, pertenço à raça dos conquistadores.
Contudo, trata-se de um sonho pouco consistente. Trata-se de uma árvore de papel. Miss Lambert fá-la desaparecer nos ares. Até mesmo a visão da sua figura
esgueirando-se pelo corredor fá-la desfazer-se em átomos. Este sonho da imperatriz não é sólido; não me satisfaz. Agora, que já foi destruído, deixa-me a tremer
de frio. Irei até à biblioteca, escolherei um livro e ali ficarei, ora a ler ora a olhar; ora a olhar ora a ler. Está aqui um poema a respeito de uma vedação. Seguirei
junto a ela e colherei flores, rosas silvestres e trepadeiras sinuosas. Apertá-las-ei com força nas mãos, e acabarei por as colocar na superfície brilhante da secretária.
Sentar-me-ei na margem trêmula do rio e ficarei a ver os lírios-de-água, largos e brilhantes, que iluminam o carvalho que se debruça por sobre a vedação com os raios
de luar reflectidos na sua própria luz líquida. Apanharei flores; unirei todas as flores numa grinalda, e, depois de esta estar pronta, irei dá-la de presente...
Oh! A quem? O fluxo do meu ser não corre como deveria; um curso de água profundo esbarra em qualquer obstáculo; sacode-se; luta; um qualquer nó existente no centro
oferece resistência. Oh, esta dor, esta angústia! Desfaleço, caio. O meu corpo perde a rigidez; é como se me tivesse tirado o lacre, estou em brasa. Agora, a corrente
transformou-se num fluxo fertilizador, forçando tudo o que encontra pela frente. A quem oferecerei tudo o que corre através de mim, pelo meu corpo quente e poroso?
Colherei um ramo de flores e vou oferecê-las... Oh! A quem?
Marinheiros e casais apaixonados percorrem a procissão; os autocarros abandonam a costa e dirigem-se para a cidade. Darei; contribuirei para enriquecer qualquer
coisa; devolverei toda esta beleza ao mundo. Recolherei as minhas flores até elas formarem um único núcleo, e, avançando de mão estendida, dá-las-ei.... Oh! A quem?
– Acabamos de receber – disse Louis –, pois trata-se do último dia do último período, o nosso último dia, para mim, para o Bernard e para o Neville, aquilo
que os mestres tinham para nos dar. Concluiu-se a introdução; o mundo está apresentado. Eles ficam; nós partimos. O Grande Professor, o homem a quem mais respeito,
balançou-se um pouco por entre as mesas e os livros, falou-nos a respeito de Horácio, Tennyson, das obras completas de Keats, e também de Mathew Arnold. Respeito
a mão que tudo isto nos deu a conhecer. Fala com a mais completa das convicções. Para si, e muito embora não se passe o mesmo connosco, as palavras que diz são verdadeiras.
Com aquela voz rouca característica dos estados emocionais profundos, disse-nos que estávamos prestes a partir. Pediu-nos para sairmos como homens. (Nos seus lábios,
tanto as citações da Bíblia como as do The Times têm a mesma magnificência.) Alguns de nós farão isto; outros aquilo. Alguns nunca mais se verão. O Neville, o Bernard
e eu nunca mais nos voltaremos a encontrar aqui. A vida far-nos-á seguir caminhos diversos. Contudo, constituímos alguns laços. Terminaram os anos infantis, irresponsáveis.
Contudo, forjamos algumas ligações. Acima de tudo, herdamos tradições.
Marcos de pedra estão aqui há seiscentos anos. Nestas paredes encontram-se inscritos nomes de militares, estadistas, até mesmo de alguns poetas infelizes (o
meu estará entre os deles). Deus abençoe as tradições, todos os limites destinados a nos salvaguardar! Estou deveras grato a todos vós, homens de capas negras, e
também a vós, já mortos, por nos terem guiado; contudo, ao fim ao cabo, o problema permanece. As diferenças ainda não foram resolvidas. As flores continuam a espreitar
pelas janelas. Vejo aves selvagens, e no meu coração agitam-se impulsos ainda mais selvagens que os pássaros. Os meus olhos têm uma expressão desvairada; aperto
os lábios com força. A ave voa; a flor dança; mas nunca deixo de escutar o bater monótono das ondas; e a fera acorrentada continua a bater as patas lá na praia.
Não pára de bater. Bate e vai batendo.
– Esta é a cerimônia final – disse Bernard. – Esta é a última de todas as nossas cerimônias. Estamos dominados por estranhos sentimentos. O guarda que segura
a bandeira está prestes a soprar o apito; o comboio não para de soltar colunas de vapor e estará pronto a partir daqui a alguns instantes. Uma pessoa sente-se tentada
a dizer qualquer coisa, a sentir qualquer coisa de absolutamente apropriado à ocasião. Sente-se a cabeça fervilhar: os lábios estão apertados. Uma abelha entra em
cena a zumbir, esvoaçando em torno do bouquet de flores de Lady Hampton, a esposa do director, que não pára de o cheirar, como que para demonstrar ter apreciado
o cumprimento. E se a abelha lhe desse uma ferroada no nariz? Estamos todos profundamente comovidos; e, no entanto, irreverentes; penitentes; desejosos de que tudo
acabe e relutantes em partir. A abelha distrai-nos; o seu voo ao acaso parece fazer diminuir a nossa concentração. Zumbindo de forma vaga, movendo-se em círculos
largos, acabou por poisar no cravo. Muitos de nós não se voltarão a ver. Não voltaremos a gozar certos prazeres quando formos livres de nos deitar e levantar quando
muito bem nos apetecer, e quando eu já não precisar de ler textos imortais às escondidas, à luz de cotos de velas. A abelha zumbe agora em torno da cabeça do Grande
Professor. Larpent, Jolin, Archie. Percival, Baker e Smith – gostei imenso de os conhecer. Apenas conheci um rapaz louco. Apenas odiei um rapaz mesquinho. Divirto-me
imenso a relembrar aqueles pequenos-almoços à mesa do director, compostos por torradas e marmelada. Ele é o único que não repara na abelha.
Se ela lhe poisasse no nariz, afastá-la-ia com um gesto magnífico. Acabou de dizer uma piada. A sua voz quase deixou de se ouvir. Estamos livres das nossas
obrigações, o Louis, o Neville e eu, para sempre. Pegamos nos livros de capas polidas, todos escritos com a caligrafia própria dos eruditos, miúda e desenhada. Levantamo-nos;
dispersamos; a pressão deixa de se fazer sentir. A abelha transformou-se num insecto insignificante e desrespeitoso, voando através da janela ao encontro da obscuridade.
Partimos amanhã.
– Estamos quase a partir – disse Neville. – As malas estão aqui; os carros estão aqui. Lá está o Percival com o seu chapéu de coco. Acabará por me esquecer.
Não responderá às minhas cartas, deixando-as esquecidas por entre armas e cães. Enviar-lhe-ei poemas, e talvez me responda com bilhetes postais. Mas é exactamente
por isso que o amo. Propor-lhe-ei um encontro, talvez por baixo de um relógio, junto a uma Cruz; ficarei à sua espera e ele não comparecerá. Sairá da minha vida
sem sequer disso se aperceber. E, por incrível que pareça, eu sairei ao encontro de outras vidas; isto é, apenas uma capa, um prelúdio. Começo a sentir, muito embora
mal consiga aguentar o discurso pomposo do director e as suas emoções fingidas, que as coisas de que nos tínhamos apercebido se estão a aproximar. Serei livre para
entrar no jardim onde Fenwick levanta o malho. Aqueles que me desprezaram reconhecerão a minha sabedoria. Contudo, e devido a qualquer lei obscura do meu ser, nem
o poder nem a sabedoria serão o suficiente para mim; andarei sempre à procura da privacidade e a murmurar palavras solitárias. E é assim que vou, na dúvida, mas
exaltado; apreensivo e com uma dor intolerável; mas pronto a descobrir o que quero depois de muito sofrimento. Ali, vejo pela última vez a estátua do nosso piedoso
fundador, as pombas poisadas na sua cabeça. Elas nunca pararão de esvoaçar em torno da sua cabeça, embranquecendo-a, enquanto na capela o órgão não pára de tocar.
Assim, ocuparei o lugar que me foi reservado no compartimento, e, quando isso acontecer, ocultarei os olhos com um livro para que não vejam que choro; ocultarei
os olhos para observar; para olhar de esguelha para o rosto. Estamos no primeiro dia das férias grandes.
– Estamos no primeiro dia das férias grandes – disse Susan. – Mas o dia ainda está enrolado. Não o examinarei até ao momento em que poisar na plataforma, ao
fim da tarde. Não me darei sequer ao trabalho de o cheirar até sentir nas narinas o vento fraco dos campos. Contudo, estes já não são os terrenos da escola; estas
já não são as vedações da escola; os homens que estão nos campos praticam acções reais; enchem carroças com feno verdadeiro; e aquelas são vacas reais, em nada semelhantes
às vacas da escola. No entanto, o cheiro a ácido carbólico dos corredores e o odor a giz característico das salas não me abandonam o nariz. Trago ainda nos olhos
o brilho uniforme da ardósia. Para enterrar profundamente a escola que tanto odeio tenho de esperar pelos campos e pelas vedações, pelos bosques e pelos pastos,
pelas vedações pontiagudas das estações ferroviárias, juncadas de giestas e carruagens descansando nas linhas secundárias, pelos túneis e pelos jardins suburbanos
onde as mulheres penduram a roupa nos estendais, e de novo pelos campos e pelos portões onde as crianças se baloiçam.
Nunca passarei uma noite que seja da minha vida em Londres, nem mandarei os meus filhos para a escola. Aqui, nesta enorme estação, todas as coisas têm um eco
vazio. A luz é amarelada, semelhante à que nos chega através de um toldo. A Jinny vive aqui. A Jinny passeia o cão nestas ruas. As pessoas daqui andam pelas ruas
em silêncio. Não olham para mais nada a não ser para as montras das lojas. As suas cabeças não param de fazer o mesmo movimento simultâneo, para cima e para baixo.
As ruas estão atadas umas às outras pelos fios do telégrafo. As casas são todas de vidro, enfeitadas com festões e toda a espécie de brilhos; agora, todas são portas
principais e cortinas de renda, pilares e degraus brancos. Mas o certo, lá vou eu, de novo para longe de Londres; estou de novo nos campos; vejo as casas, as mulheres,
que penduram a roupa às árvores, e os pastos. Londres apresenta-se agora velada, acabando por se dobrar sobre si mesma e desaparecer. O ácido carbólico e a resina
começam agora a perder o seu sabor. Cheira-me a milho e a nabos. Desfaço um embrulho de papel amarrado com um fio de algodão branco. As cascas de ovo rebolam para
a depressão que separa os meus dois joelhos. As estações vão-se seguindo umas às outras. As mulheres beijam-se e ajudam-se mutuamente a carregar os cestos. Agora,
já posso abrir a janela e deitar a cabeça de fora. O ar entra-me às golfadas pelo nariz e pela garganta – este ar fresco, este ar com sabor a sal e cheiro a nabos.
E lá está o meu pai, de costas voltadas, a falar com um agricultor. Estremeço. Choro. Lá está o meu pai com as suas palavras. Lá está o meu pai.
– Sento-me muito quietinha no meu canto e lá vou para o Norte – disse Jinny. – O comboio faz muito barulho, mas é tão suave que esbate as vedações, aumenta
o tamanho das encostas. Passamos por inúmeros sinais luminosos; fazemos a terra abanar ligeiramente de um lado para o outro. A distância concentra-se para todo o
sempre num único ponto; e estamos condenados para todo o sempre a fendê-la, a obrigá-la a se distanciar. Os postes do telégrafo não param de nos surgir pela frente;
abate-se um, eleva-se outro. Agora, rugimos e precipitamo-nos num túnel. Um cavalheiro levanta a janela. Vejo bolhas no vidro brilhante onde o túnel se reflecte.
Vejo-o baixar o jornal. Sorri para o meu reflexo no túnel. Por sua livre e espontânea vontade, o meu corpo endireita-se ao sentir o seu olhar. O meu corpo vive uma
vida que é só dele. Agora, o vidro negro da janela voltou a ser verde. Estamos fora do túnel. Ele lê o jornal. Mas já tocamos a aprovação dos nossos corpos. Lá fora
existe uma sociedade de corpos, e o meu já lhe pertence; o meu já chegou à sala onde estão as cadeiras douradas. Olha, tudo dança, as janelas das villas e as cortinas
que as enfeitam; e os homens estão sentados nas vedações dos campos de milho, com os seus lenços azuis atados ao pescoço; estão tão conscientes como eu de todo este
êxtase e calor. Um deles acena à nossa passagem. Nos jardins destas villas existem caramanchões e pavilhões, e jovens em mangas de camisa a podar as roseiras. Um
homem a cavalo vai galopando pelo prado. O animal dá um salto quando passamos. E o cavaleiro vira-se para nos olhar. Voltamos a nos encontrar no meio da escuridão.
Recosto-me; entrego-me ao êxtase; imagino que no fundo do túnel entrarei num salão repleto de cadeiras, numa das quais me sentarei, sob os olhares de admiração de
todos, com o vestido muito bem arranjado à minha volta. Mas aterro, quando levanto a cabeça encontro os olhos de uma mulher azeda, que suspeita que me deixo levar
pelo êxtase. Com alguma impertinência, fecho o corpo bem à sua frente, como se de um guarda-sol se tratasse. O meu corpo abre-se e fecha-se quando quero. A vida
está a começar. Entro agora nos segredos que esta para mim reservou.
– Estamos no primeiro dia das férias grandes – disse Rhoda. – E agora, à medida que o comboio passa por estas rochas vermelhas, por este mar azul, o trimestre,
agora que chegou ao fim, ganha uma determinada forma atrás de mim. Vejo-lhe a cor. Junho foi branco. Vejo os campos repletos de margaridas brancas, vestidos brancos,
e campos de tênis, cujos limites estão traçados a branco. Seguiu-se então uma tempestade muito forte. Certa noite, vi uma estrela cavalgar as nuvens e disse-lhe:
“Consome-me!”. Estava-se em pleno Verão, depois da festa ao ar livre e da humilhação por que tive de passar. O vento e a tempestade deram cor ao mês de Julho. É
sensivelmente a meio que, horrível, cadavérica, se deve posicionar a poça cinzenta no pátio, quando, de envelope na mão, me fizeram transportar uma mensagem. Aproximei-me
da poça. Não a consegui atravessar. A noção de identidade abandonou-me. “Nada somos”, disse, depois do que caí. Fui arrastada como uma pena, transportaram-me através
de túneis. Então, com muita cautela, dei um passo em frente. Encostei a mão a uma parede de tijolo. Foi a muito custo que voltei, recolhendo-me de novo no meu corpo,
por cima do espaço cinzento e cadavérico da poça. Esta é então a vida com a qual estou comprometida.
E é assim que deixo para trás o trimestre do Verão. Através de choques intermitentes, rápidos como os saltos de um tigre, a vida emerge do mar, tecendo a sua
crista escura. É com isto que estamos comprometidos; é a isto que estamos ligados, como corpos a cavalos selvagens. Contudo, inventamos engenhos destinados a encher
as rochas e a disfarçar as fendas. Cá está o revisor. Aqui, estão dois homens; três mulheres; um gato dentro de um cesto; eu mesma, o cotovelo apoiado à calha da
janela – isto é o aqui e agora. E lá vamos nós avançando através destas cearas douradas. As mondadeiras surpreendem-se por ficarem para trás. O comboio faz agora
muito barulho e respira penosamente, pois vamos a subir, a subir cada vez mais. Acabamos por chegar ao cimo da charneca. Aqui, só vivem umas quantas ovelhas bravas,
uns quantos pôneis felpudos; apesar disso, temos todos os confortos: mesas onde poisar os jornais; espaços destinados a segurar os copos. Levamos todas estas coisas
connosco para o cimo da charneca. Estamos agora no ponto mais alto. O silêncio fecha-se atrás de nós. Se olhar por cima daquela cabeça careca, poderei ver o silêncio
fechar-se e as sombras das nuvens perseguindo-se umas às outras ao longo da charneca vazia; o silêncio fecha-se atrás da nossa breve passagem. Chamo a isto o momento
presente; este é o primeiro dia das férias grandes. Isto é apenas uma parte do monstro a que estamos ligados.
– Já saímos – disse Louis. – Estou agora em suspensão, sem estar seguro a coisa alguma. Estamos sem estar. Estamos a atravessar a Inglaterra de comboio. A
Inglaterra vai passando através da janela, transformando-se de colina em bosque, em rios e salgueiros, e tudo apenas para voltar a ser cidade. E eu não tenho qualquer
ponto concreto para onde possa ir. O Bernard e o Neville, o Percival, o Archie, o Larpent e o Baker, todos vão para Oxford ou Cambridge, para Edimburgo, Roma, Paris,
Berlim, ou para qualquer universidade americana. Eu limito-me a avançar de forma vaga, destinado a fazer dinheiro de forma vaga. É por isso que uma sombra dolorosa,
um sotaque familiar, poisa nestas sedas douradas, nestes campos de papoulas vermelhas, nestas espigas de trigo que nunca ultrapassam o limite, mantendo-se sempre
dentro da vedação. Este é o primeiro dia de uma nova vida, mais um dos raios da roda que se eleva. Contudo, o meu corpo é tão errante como a sombra de uma ave. Deveria
ser tão efêmero como uma sombra no pasto, ora desmaiando ora escurecendo, acabando por morrer no ponto onde encontra o bosque, e assim seria se não fizesse um enorme
esforço mental para que as coisas não se passassem desta forma; obrigo-me a registrar o momento presente, quanto mais não seja no verso de uma poesia que nunca será
escrita; a anotar esta pequena marca da longa história que começou no Egipto, no tempo dos faraós, quando mulheres levavam ânforas vermelhas para o Nilo. Tenho a
sensação de que já vivi milhares de anos. Mas, se fechar os olhos, se não conseguir descobrir o ponto de encontro entre o passado e o presente, que estou sentado
numa carruagem de terceira classe repleta de rapazes que vão passar férias a casa, a história da humanidade ficará despojada da imagem de um determinado momento.
O seu olho, que deveria ver através de mim, fecha-se (isto se a cobardia ou o descuido me fizerem adormecer, enterrando-me no passado, na escuridão; ou o condescender,
tal como o Bernard faz, contando histórias; ou gabando-me, tal como se gabam o Percival, o Archie, o John, o Walter, o Lathom, o Roper e o Smith), os nomes são sempre
os mesmos, são os nomes dos fanfarrões. Estão-se todos a gabar, estão todos a falar, todos menos o Neville, que de vez em quando deixa o olhar escorregar por um
dos cantos do livro francês que está a ler. E assim continuará a se esgueirar, penetrando em aposentos iluminados pela luz da lareira e onde se vêem muitas poltronas,
tendo como companhia um amigo e muitos livros. Enquanto isso, estarei sentado num escritório, por detrás de um balcão. Acabarei por me tornar amargo e troçar deles.
Invejarei o modo como seguir as suas tradições, escudando-se na sombra dos velhos teixos, enquanto eu terei de me misturar com funcionários públicos e gente de baixa
condição, palmilhando as pedras da calçada.
No entanto, desmembrado e sem nada onde me possa segurar (está ali um rio; um homem pesca; vê-se ali um pináculo, ali a rua principal da aldeia com as suas
janelas em arco) tudo me parece um sonho, sem contornos definidos. Estes pensamentos duros, esta inveja, esta amargura, nada disto me atinge. Sou o fantasma do Louis,
um viandante efêmero, em cuja mente os sonhos são poderosos, e os jardins ecoam quando, de manhã bem cedo, as pétalas flutuam em profundezas insondáveis e as aves
cantam. Mergulho nas águas límpidas da infância. O véu fino que a cobre estremece. Mas, lá na praia, o animal acorrentado não cessa de bater as patas.
– O Louis e o Neville – disse Bernard – estão ambos em silêncio. Estão ambos absortos. Ambos sentem a presença dos outros como se de um muro se tratasse, um
muro que os isola. Todavia, se me retiro em companhia dos outros, as palavras de imediato se elevam dos meus lábios como se fossem anéis de fumo. É como se chegassem
um fósforo a um monte de lenha; algo se incendeia. Entra agora um viajante, um homem idoso, de aparência próspera. De imediato sinto desejo dele me aproximar; há
qualquer coisa na sua presença fria, não assimilada, que me desgosta profundamente. Não acredito em separações. Não somos seres individuais. Para mais, tenho vontade
de alargar a minha colecção de observações valiosas a respeito da verdadeira natureza humana. Por certo que a minha obra constará de muitos volumes e abrangerá todos
os tipos conhecidos de homens e mulheres. Encho a mente com todos os elementos de uma sala ou de uma carruagem, do mesmo modo que os outros enchem uma caneta de
tinta-permanente. Tenho uma sede impossível de mitigar. Através de sinais imperceptíveis, os quais só mais tarde poderei interpretar, sinto que a sua atitude provocatória
está prestes a esmorecer. A solidão que demonstra parece estar prestes a estalar. Acabou de dizer qualquer coisa a respeito de uma casa de campo. Um círculo de fumo
eleva-se dos meus lábios (a respeito de colheitas) e gira em volta dele, obrigando-o a estabelecer contacto. A voz humana tem uma qualidade desarmante (não somos
seres individuais, somos um todo). À medida que trocamos algumas frases a respeito de casas de campo é como se o polisse e tornasse real. Como marido é tolerante,
se bem que infiel; trata-se de um pequeno mestre-de-obra com alguns homens a trabalhar para si. É importante na sociedade a que pertence; já atingiu a posição de
conselheiro, e, com o tempo, talvez venha a ser presidente de câmara. Pendurado na corrente do relógio, está um qualquer enfeite de coral, uma espécie de dente arrancado
pela raiz. Walter J. Trumble é o tipo de nome que lhe ficaria bem. Esteve na América com a mulher, a tratar de negócios, e um quarto de casal numa pensão importante
custou-lhe o equivalente a um mês de salário. Um dos dentes da frente é de ouro.
Bom, o certo é que não tenho jeito para grandes reflexões. Preciso de sentir o concreto em tudo. Só assim me consigo apropriar do mundo. Contudo, dá-me a sensação
de que uma frase tem existência própria. Mesmo assim, penso que é na completa solidão que se produz o melhor. As minhas palavras são cálidas e solúveis, carecem
de um certo arejamento que não lhes posso dar. Mesmo assim, o meu método tem vantagens. Por exemplo, a vulgaridade de um indivíduo como Trumble faz com que o Neville
se afaste. O Louis, caminhando com o passo alto das garças desdenhosas, vai apanhando palavras como se para isso se servisse de pinças. É certo que os seus olhos
– ariscos, sorridentes, mas também desesperados – expressam algo que não conseguimos alcançar. Há qualquer coisa de exacto e preciso em relação ao Neville e ao Louis,
algo que tanto admiro e que nunca possuirei. Começo agora a aperceber-me da necessidade de agir. Aproximamo-nos de um entroncamento; é aqui que devo mudar. Tenho
de apanhar um comboio para Edimburgo. Sinto que não consigo encarar este facto – escapa-se-me por entre os dedos como um botão, como uma moedinha. Aqui vem o revisor
pedir os bilhetes. Eu tinha um – claro que tinha um. Mas isso não interessa. Ou o encontro ou não o encontro. Procuro na carteira. Vasculho os bolsos. São coisas
deste tipo que estão constantemente a interromper o processo no qual me vejo sempre envolvido, e que se prende com a procura da frase perfeita que se adeque a este
momento.
– O Bernard foi-se embora sem bilhete – disse Neville. – Escapou-se como uma frase, um aceno. Falava com a mesma facilidade com que nos falava tanto a um canalizador
como a um criador de cavalos. O canalizador aceitava-o com devoção. Se tivesse um filho como ele, pensava, arranjava maneira de o mandar para Oxford. Mas que sentiria
o Bernard pelo canalizador? Será que não desejaria apenas continuar a sequência da história que nunca pára de contar a si mesmo? Começou-a em criança quando desfazia
o pão em migalhas. Esta migalha era um homem, aquela uma mulher.
Somos todos migalhas. Somos todos frases na sua história, factos que anota na letra A ou B. Revela uma incrível compreensão quando conta a nossa história,
excepto no que se refere ao que sentimos. O certo é que não precisa de nós. Tudo está à nossa mercê. Ali está ele, na plataforma, a acenar. O comboio partiu sem
ele. Perdeu a ligação. Perdeu o bilhete.
Mas isso não importa. Acabará por falar com o empregado do bar a respeito do destino humano. Estamos de fora; ele já nos esqueceu; saímos do seu ângulo de
visão; continuamos repletos de sensações, meio-doces, meio-amargas, pois, e, de certa forma, ele é digno de piedade, enfrentando o mundo com as suas frases incompletas
e sem o bilhete. Mesmo assim, também merece ser amado.
Volto a fingir que estou a ler. Levanto o livro até este quase me tapar os olhos. Todavia, sou incapaz de ler frente a canalizadores e criadores de cavalos.
Não tenho o poder de inspirar simpatia. Não admiro aquele homem; ele não me admira. Deixem-me ao menos ser honesto. Deixem-me denunciar este mundo fútil, oco, em
paz consigo mesmo; estes assentos de pele de cavalo; estas fotografias a cores de molhes e paredões. É claro que poderia denunciar em voz alta a mediocridade deste
mundo, que produz negociantes de cavalos que usam berloques de coral nas correntes dos relógios. Há em mim a capacidade de os consumir por completo. As minhas gargalhadas
fá-los-ão revolver-se nos assentos; fá-los-ão uivar à minha frente. Não; eles são imortais. São eles quem triunfam. Farão com que nunca me seja possível ler Catulo
numa carruagem de terceira classe. Farão com que em Outubro me refugie numa universidade, onde acabarei por me tornar professor; e ir até à Grécia dar palestras
no Parténon. Seria melhor criar cavalos e viver numa daquelas casas vermelhas do que passar a vida a revolver-me nas caveiras de Sófocles e Eurípides, semelhante
a uma larva, tendo por companheira uma esposa de vasta erudição, uma dessas mulheres das universidades. Apesar de tudo, será esse o meu destino. Sofrerei. Aos dezoito
anos, sou capaz de mostrar uma tão grande dose de desprezo, que os criadores de cavalos me odeiam. É esse o meu triunfo; sou incapaz de compromissos. Não sou tímido;
não tenho qualquer sotaque estranho. Ao contrário do Louis, não preciso de me preocupar com o que irão as pessoas pensar por o meu pai ser banqueiro em Brisbane”.
Aproximamo-nos do mundo civilizado. Já vejo os gasômetros. Lá estão os jardins municipais por onde passam linhas asfaltadas. Lá estão os amantes, deitados
na relva sem qualquer pudor, as bocas apertadas umas contra as outras. O Percival deve estar quase na Escócia; por certo que o comboio onde viajava atravessa charnecas
avermelhadas; por certo que deve estar a ver a linha composta pelas montanhas que marcam o início do país, bem assim como o muro romano. Deve estar a ler um livro
policial e a entender tudo o que lá está.
O comboio abranda e alonga-se à medida que nos aproximamos de Londres, do centro, e o meu coração quase que salta, de medo, de satisfação. Estou prestes a
encontrar... o quê? Que aventuras extraordinárias me esperarão por entre estas carrinhas dos correios, estes bagageiros, estes enxames de gente à espera de táxi?
Sinto-me insignificante, perdido, mas também satisfeito. Paramos com um ligeiro solavanco. Vou deixar que os outros saiam antes de mim. Deixar-me-ei ficar sentado
durante mais um instante antes de sair ao encontro daquele caos, daquele tumulto. Tentarei não antecipar o que está para vir. Sinto um enorme rugido nos ouvidos,
qualquer coisa que, por baixo deste telhado de vidro, lembra o barulho do mar. Despejam-nos na plataforma com as malas na mão. O turbilhão faz com que nos separemos.
O meu sentido de unidade, o desprezo que me caracteriza, quase desaparece. Sou arrastado pela multidão. Afasto-me da plataforma agarrado a tudo o que possuo – uma
mala.
O Sol já nasceu. Barras de amarelo e verde incidem na praia, dourando as traves do barco carcomido e fazendo com que as algas emitam reflexos azul metalizado.
A luz quase que atravessa as finas ondas que se estendem pela praia. A rapariga que abanou a cabeça, fazendo dançar todas as jóias, os topázios, as águas-marinhas,
as contas cor de água com lampejos de fogo, desnudou agora a testa e, de olhos bem abertos, traça um caminho em linha recta por sobre as ondas. Os seus brilhos tremeluzentes
escurecem; os seus abismos verdes aprofundam-se e escurecem, podendo ser atravessados por cardumes errantes de peixes. À medida que se quebram e recolhem, deixam
atrás de si, na praia, uma orla composta por raminhos e cascas de árvore, palhas e pedaços de madeira, tal como se uma chalupa se tivesse quebrado contra as rochas,
os marinheiros tivessem nadado para a terra, e, do alto do penhasco, vissem a frágil embarcação em que seguiam ser arrastada para a praia.
No jardim, as aves que até então haviam cantado de forma esporádica, anunciando a alvorada, ora nesta árvore ora naquele arbusto, cantavam agora em coro, alto
e bom som; ora juntas (como se estivessem conscientes da companhia) ora a sós (como se para homenagear o pálido céu azul). Como se tivessem combinado, levantavam
voo em conjunto quando viam um gato preto avançar por entre os arbustos; quando viam a cozinheira atirar mais uma pá de cinza para o monte já grande do dia anterior.
O seu canto revelava medo, dor e apreensão, e também a alegria de terem conseguido escapar no instante preciso. Para mais, cantavam também de felicidade no ar fresco
da manhã, voando alto por cima do ulmeiro, cantando em conjunto ao se perseguirem mutuamente, escapando-se, tentando agarrar-se enquanto voltejavam nos ares. E então,
cansadas de voar e da perseguição, desceram devagar, com suavidade, acabando por poisar e se sentar em silêncio na árvore, no muro, com os olhos brilhantes sempre
alerta, e as cabeças ora viradas nesta ou naquela direcção; vivos, despertos; profundamente conscientes de uma casa, de um determinado objecto.
Sem parar de olhar de um lado para o outro, começaram a examinar mais em profundidade, virando as cabeças para o nível inferior ao das flores, para as avenidas
escuras que compõem o mundo obscuro onde as folhas apodrecem e as flores acabam por cair. Então, um dos pássaros, fazendo um voo rasante, ataca o corpo mole e indefeso
de um verme monstruoso, bicando-o repetidas vezes até acabar por decidir deixá-lo apodrecer. Lá em baixo, entre as raízes, onde as flores apodreciam, e elevava-se
nos ares toda a espécie de cheiros indicadores de morte; formavam-se gotas nos flancos inchados e entumecidos das coisas. A pele da fruta podre rebentava, e a matéria
tornava-se demasiado espessa para correr. As lesmas deixavam atrás de si uma série de excreções amarelas, e, de vez em quando, um corpo amorfo com uma cabeça em
ambas as extremidades abanava-se devagar de um lado para o outro. As aves de olhos dourados, poisadas entre as folhas, observavam de forma zombeteira toda aquela
purulência, aquela viscosidade. De vez em quando, espetavam as pontas dos bicos na mistura pegajosa.
Também agora o sol atingiu a janela, tocando a cortina orlada a vermelho, começando a criar círculos e linhas. Agora, à luz da claridade que não parava de
aumentar, a sua brancura poisava na bandeja; a lâmina condensava o seu brilho. As cadeiras e os armários apareciam de forma indistinta mais atrás, o que fazia com
que, muito embora fossem objectos diferentes, parecessem ser incapazes de se separar. O espelho cobria a parede de branco. A flor que repousava no parapeito da janela
tinha por companhia uma flor fantasma. Todavia, aquela espécie de espectro fazia parte da flor, pois que quando se soltava um botão, um outro abria na forma mais
pálida, reflectida no espelho.
O vento começou a soprar. As ondas batiam com força na praia, como se fossem guerreiros de turbante, como se fossem homens de turbante com azagaias envenenadas
que, erguendo os braços, avançassem contra rebanhos compostos por ovelhas brancas.
– Aqui, na faculdade, onde a agitação da vida e o modo como esta nos pressiona são tremendos, onde a excitação de viver se torna cada dia mais urgente, aqui
a complexidade das coisas torna-se óbvia – disse Bernard. – A toda a hora descubro coisas novas. “Que sou eu?”, pergunto. Isto? Não, sou aquilo. Principalmente agora,
que abandonei uma sala cheia de gente a conversar, e os meus passos solitários ressoam nas lajes, e vejo a lua elevar-se, sublime, indiferente, por sobre a antiga
capela, é então que se torna claro que não sou um ser uno e simples, mas antes complexo e múltiplo. Em público, o Bernard não se cala; em privado, é misterioso.
É por isso que eles não compreendem, pois por certo que estão a falar a meu respeito, dizendo que lhes escapo, que sou evasivo. Não compreendem que tenho de passar
por muitas transformações; que tenho de comandar as entradas e as saídas dos diferentes homens que desempenham o papel de Bernard. Tenho uma capacidade anormal para
me aperceber das circunstâncias. Sou incapaz de ler um livro no comboio sem perguntar: “Será ele um construtor? Será ela infeliz?”. Por exemplo, hoje apercebi-me
claramente da amargura com que o pobre Simes (ele e a sua borbulha) sentia serem diminutas as hipóteses que tinha de impressionar o Billy Jackson. O facto doeu-me,
e foi com ardor que o convidei para jantar. Ele talvez vá atribuir o que se passou a uma admiração que não é minha. Claro que estou a dizer a verdade. Mas, para
além da sensibilidade própria das mulheres (e aqui estou a citar o meu biógrafo) Bernard possuía a sobriedade lógica de um homem. As pessoas que apenas retêm uma
impressão das coisas, a qual costuma ser quase sempre boa (pois parece existir uma qualquer virtude na simplicidade), são as que mantêm o equilíbrio no meio da corrente.
(De imediato vejo um cardume de peixes com os narizes apontados na mesma direcção.) Canon, Lycett, Peters, Hawkins, Larpent, Neville, todos são peixes a nadar no
meio da corrente. Mas tu compreendes, tu, o meu eu, que respondes sempre que te chamo (seria terrível esperar e não obter resposta; só isso explicaria a expressão
dos homens idosos que frequentam os clubes, há muito que deixaram de chamar por um eu que não responde), tu compreendes que aquilo que disse esta noite apenas representa
uma parte superficial do meu ser. No fundo, é quando estou mais distante que me sinto mais integrado. Sou efusivamente simpático; também me sento, tal como um sapo
num charco, recebendo com toda a calma seja o que for que o destino me reserva. Poucos de vós, que agora discutem a meu respeito, têm a dupla capacidade de sentir,
de raciocinar. Repare, o Lycett continua a correr atrás das lebres; o Hawkins passou uma tarde atarefadissima na biblioteca. O Peters tem uma namoradinha na biblioteca
móvel. Vocês estão todos comprometidos, envolvidos, absorvidos, e completamente activados dos pés à cabeça, todos menos o Neville, cuja mente é demasiado complexa
para se interessar por uma única actividade. Eu também sou demasiado complexo. No meu caso, há algo que permanece a flutuar, sem se prender a nada.
Agora, como que para provar que sou susceptível à atmosfera que me rodeia, aqui, no meu quarto, quando acendo a luz e vejo as folhas de papel, a mesa, o roupão
negligentemente poisado nas costas da cadeira, sinto que sou aquele homem simultaneamente ousado e prudente, aquela figura intrépida e perniciosa que, despindo o
casaco com elegância, agarra na caneta e de imediato se põe a escrever à rapariga por quem está profundamente apaixonado.
Sim, tudo é propício. Estou no estado de espírito adequado. Posso escrever de um só fôlego a carta que tantas vezes comecei. Acabei de entrar; deixei cair
o chapéu e a bengala; estou a escrever a primeira coisa que me veio à cabeça sem sequer me ter dado ao trabalho de endireitar o papel. Irá transformar-se num esboço
brilhante, a respeito do qual ela deverá pensar ter sido escrito sem uma pausa, sem uma emenda. Reparem como as letras estão desordenadas – ali há mesmo um borrão.
Tudo deverá ser sacrificado em nome da velocidade e do descuido. Utilizarei uma caligrafia pequena, apressada, exagerando a curva inferior do “y” e atravessando
os “t” assim – com um traço. A data será apenas terça-feira, dezessete, ao que se seguirá um ponto de interrogação. Todavia, devo dar-lhe a impressão de que muito
embora ele – pois este não sou eu – esteja a escrever de forma tão pouco cuidada, tão impetuosa, existe aqui uma subtil sugestão de intimidade e respeito. Terei
de aludir a conversas travadas por ambos – trazer à baila uma qualquer cena conhecida. Contudo, tenho de lhe dar a impressão (e isto é muito importante) de que salto
de uma coisa para outra com o maior à-vontade do mundo. Saltarei do trabalho para o homem que se afogou (tenho uma frase para isso), depois para Mrs. Moffat e os
seus ditos (tenho algumas notas a esse respeito), e só então farei algumas reflexões aparentemente casuais, mas repletas de profundidade (é com frequência as críticas
mais profundas serem feitas por acaso) sobre um qualquer livro que tenha andado a ler, um livro pouco conhecido.
Quero que ela diga quando escova o cabelo ou apaga a vela: “Onde é que li isto? Oh, na carta do Bernard!”. É na velocidade que reside o efeito quente, úmido,
o fluxo continuo de frases de que tanto preciso. Em quem estarei a pensar? Em Byron, claro. Sou como ele em alguns aspectos. Talvez que um pouco de Byron me ajude.
Talvez seja melhor ler uma ou duas páginas. Não; isto é maçador; fragmentado. Isto é demasiado formal. Comecei agora a sentir-lhe o ritmo (o ritmo é a característica
mais importante da escrita). Agora, e sem proceder a qualquer paragem, inspirado por esta cadência melodiosa, vou escrever tudo de um só fôlego.
Porém, não o consigo. Sou incapaz de reunir a energia suficiente para proceder à transição. O meu verdadeiro eu sobrepõe-se à máscara. Se recomeçar a escrever,
ela pensará: “O Bernard está a armar-se em intelectual; está a pensar no biógrafo” (o que até é verdade). Não, talvez seja melhor deixar a carta para amanhã, logo
a seguir ao pequeno-almoço.
Deixa-me antes de encher o espírito com cenas imaginárias. Vamos partir do princípio que me pedem para ficar em Restover, Kings Laughton, a três milhas de
Station Langley. No pátio desta casa em mau estado encontram-se dois ou três cães, esquivos, de pernas compridas. A entrada está coberta por tapetes desbotados;
um cavalheiro de porte marcial fuma o seu cachimbo enquanto percorre o terraço, de cá para lá e de lá para cá. O tom reinante é o de um misto de pobreza aristocrática
e de ligações com o exército. Em cima da escrivaninha vê-se o casco de um cavalo – o animal preferido. “Gosta de montar?” “Sim, adoro.” “A minha filha está à nossa
espera na sala.”
O coração quase me salta do peito. Ela está sentada junto a uma mesa baixa; esteve a caçar; há qualquer coisa de maria-rapaz na forma como mastiga o pão. O
coronel ficou com uma excelente impressão a meu respeito. Acha que não sou nem demasiado esperto nem demasiado rude. Também sei jogar bilhar. É então que entra na
sala a simpática criada que trabalha para a família há mais de trinta anos. Os pratos estão enfeitados com aves de longas caudas, bem ao estilo oriental. Por cima
da lareira pode ver-se o retrato da mãe, envergando um vestido de musselina. É com facilidade que descrevo aqui o que me rodeia. Mas será que consigo fazer com que
as coisas resultem? Serei capaz de ouvir a sua voz – o tom exacto com que pronunciará a palavra “Bernard” assim que nos encontremos a sós? E depois, o que virá a
seguir?
O certo é que preciso do estímulo alheio. A sós, junto à lareira apagada, consigo ver os pontos pouco consistentes da minha história. O verdadeiro romancista,
o ser humano verdadeiramente simples, seria capaz de continuar a dar largas à imaginação até quase ao infinito. Ao contrário do que se passa comigo, nunca se integraria.
Nunca se aperceberia do terrível facto de existirem inúmeras partículas de cinza repousando na grelha. É como se um estore se corresse por sobre o meu olhar. Tudo
adquire características impenetráveis. Sou obrigado a parar de inventar.
Deixa-me fazer um balanço do que se passou hoje. Em termos gerais, até foi um bom dia. A gota que se forma logo pela manhã no telhado da alma é redonda e tem
muitas cores. A manhã foi boa; passei a tarde a andar. Gosto de ver espirais elevando-se por entre os campos cinzentos. Gosto de olhar por entre os ombros das pessoas.
Estavam-me sempre a vir imagens à mente. Fui imaginativo, subtil. Depois do jantar, mostrei-me dramático. Transformei em factos concretos muitas coisas a respeito
dos nossos amigos comuns de que apenas me tinha apercebido vagamente. Foi com facilidade que fiz as minhas passagens. Agora, sentado de frente a este lume cinzento,
com os seus promontórios de carvão escuro, talvez não seja má ideia interrogar-me a respeito de qual destas pessoas sou. Depende tanto da sala. Quando digo para
mim mesmo a palavra “Bernard”, quem é que aparece? Um homem fiel, sardônico, desiludido, se bem que não amargurado. Um homem sem qualquer idade ou ocupação específicas.
Ou seja, apenas eu. É ele quem agora pega no atiçador e sacode as cinzas, fazendo-as escoar-se através da grelha. “Meu Deus”, diz ele ao vê-las cair, “que fumarada!”,
ao que a seguir acrescenta de forma lúgubre, mas que à laia de consolo: “A Mrs. Moffat virá varrer tudo isto”– acho que irei repetir muitas vezes esta frase ao longo
da vida. “Oh, sim, a Mrs. Moffat virá varrer tudo isto.” “E o melhor será mesmo ir para a cama.”
– Num mundo que contém o momento presente – disse Neville –, para quê discriminar? Não deveríamos dar nomes a coisa alguma, já que, ao fazê-lo, estamos a alterá-la.
Deixemo-las existir, esta margem, esta beleza, para que eu, por um só instante que seja, possa sentir prazer. O sol está quente. Contemplo o rio. Vejo as árvores
manchadas e como que incendiadas pelo sol avermelhado do Outono. Os barcos vão passando a flutuar, ora através do vermelho ora através do verde. Lá longe, os sinos
dobram, se bem que não pelos mortos. Estas campainhas são antes um louvor à vida. A felicidade faz com que uma folha caia. Oh, estou apaixonado pela vida! Reparem
só como o salgueiro estende os ramos pelo ar! Reparem só como um barco recheado de jovens indolentes, fortes e inconscientes, passa através deles. Os rapazes têm
um gramofone ligado e estão a comer fruta que tiram de dentro de sacos de papel. Atiram as cascas das bananas para o rio, e aquelas acabam por se afundar com um
movimento semelhante ao das enguias. Tudo o que fazem é belo. Atrás deles estão galheteiros e ornamentos; os seus quartos estão cheios de remos e oleografias, mas
acabaram por transformar tudo em beleza. O barco em que seguem passa por baixo da ponte. Há outro que se aproxima, de pronto seguido por mais outro. Lá está o Percival
reclinado nas almofadas, monolítico, num repouso de gigantes. Não, é apenas um dos que em torno dele giram, imitando a sua postura monolítica. O próprio Percival
não tem consciência dos seus truques, e, quando por acaso deles se apercebe, afasta-os com um gesto bem-humorado. Também eles passaram por baixo da ponte, pela fonte
das árvores pendentes, através das suas delicadas tonalidades de amarelo e cor de ameixa. Sopra uma ligeira brisa; a cortina agita-se; por detrás dela surge uma
série de edifícios graves, se bem que eternamente felizes, os quais parecem porosos, e não compactos; leves, apesar de construídos na turfa eterna. Começa agora
a soar em mim um ritmo familiar; as palavras que até agora haviam estado adormecidas vão aos poucos elevando-se, sobem e descem, e voltam a subir e a descer. Sim,
sou poeta. Só posso ser um grande poeta. Barcos cheios de jovens e árvores distantes, a fonte das árvores pendentes. Tudo isto vejo. Tudo isto sinto. Sinto-me inspirado.
Os olhos enchem-se-me de lágrimas. Todavia, e apesar de me sentir assim, tento refrear o mais possível o frenesi que sinto. Este espuma. Torna-se artificial, pouco
sincero. Palavras, palavras e palavras, observem o modo como galopam, como abanam as longas caudas e crinas, mas, e por qualquer falha minha, não me posso dar ao
luxo de as montar; não posso voar junto com elas. Existe em mim um qualquer defeito, uma qualquer hesitação fatal, que, se não lhe prestar atenção, se transforma
em espuma e falsidade. Contudo, mal consigo acreditar que não possa vir a ser um grande poeta. Se o que escrevi ontem à noite não é poesia, então o que é? Serei
demasiado rápido, demasiado fácil? Não sei. Às vezes não me conheço, chegando mesmo a não saber como medir, contar e classificar os grãos que compõem aquilo que
sou.
Há algo que me abandona; algo que se afasta de mim e vai ao encontro da figura que se aproxima, o que me faz ter a certeza de a conhecer, mesmo antes de ver
quem é. Como é curioso o modo como nos transformamos na presença de um amigo – mesmo que este esteja longe. Como é útil o serviço que os amigos nos prestam quando
nos procuram. No entanto, como é doloroso vermos o nosso eu adulterado, misturado, como que fazendo parte de outra criatura. À medida que ele se aproxima, transforma-se
numa mistura do Neville com mais alguém – quem? – com o Bernard? Sim, é mesmo o Bernard, e é a ele que deverei colocar a questão: “Quem sou eu?”.
– Que estranho parecem os salgueiros quando vistos em conjunto – disse Bernard. – Eu era Byron, e as árvores eram as árvores de Byron, lacrimosas, de ramos
pendentes, como que a lamentarem-se. Quando olhamos atentamente apenas para uma árvore, vemos que tudo combina, até mesmo os ramos mais diferentes, e, forçado pela
tua claridade, vejo-me obrigado a dizer o que sinto.
Sinto a tua desaprovação, a tua força. Junto contigo, transformo-me num ser humano desordenado e impulsivo, cujo lenço está para sempre manchado com a gordura
dos bolos. Sim, seguro um livro de Gray numa das mãos (trata-se do Elegy), enquanto com a outra agarro o último bolo, aquele que absorveu toda a manteiga e ficou
agarrado ao fundo do prato. O facto ofende-te; sinto o teu descontentamento. Inspirado por ele e ansioso por voltar a cair nas tuas boas graças, começo a contar-te
a forma como consegui arrancar o Percival da cama; descrevo os seus chinelos; a mesa e a vela gotejante que se encontram no quarto; os seus protestos e amuos quando
o destapo; o modo como ele acaba por se enroscar como se fosse um casulo gigante. Descrevo tudo isto de tal forma, que, muito embora estejas embrenhado numa qualquer
mágoa particular (pois há uma figura embuçada a presidir ao nosso encontro), acabas por ceder, soltas uma gargalhada e delicias-me. O meu encanto e o modo como me
exprimo, inesperado e espontâneo, também me deliciam. Sempre que desnudo as coisas através das palavras, fico espantado com o quanto o meu poder de observação é
bem mais desenvolvido que a linguagem que utilizo. À medida que falo, são cada vez mais as imagens que me vêm à cabeça. É isto mesmo que preciso, digo eu para comigo;
sendo assim, por que razão não consigo acabar a carta que estou a escrever? O certo é que o meu quarto está sempre cheio de cartas por acabar. Começo a suspeitar
de que quando estou contigo me encontro entre o mais dotado dos homens. Sinto-me invadido pelas delícias da juventude, da força, do sentido do que está para vir.
Aos tropeções, mas cheio de fervor, vejo-me a zumbir em torno das mais variadas flores, descendo ao longo de corolas escarlates, fazendo com que os funis azuis ecoem
os sons prodigiosos que provoco. Com que riqueza gozarei a juventude (pelo menos é assim que me fazes sentir!). E Londres. E a liberdade. Mas o melhor é parar. Não
me estás a ouvir. Ao deslizares a mão pelo joelho, num gesto indescritivelmente familiar, é como se estivesses a fazer um qualquer protesto. É através destes sinais
que diagnosticamos as doenças dos amigos. Pareces estar a dizer: “Por favor, na tua plenitude e fluência, não te esqueças de mim. Pára. Pergunta qual a razão que
me leva a sofrer”.
Deixa-me inventar-te. (Fizeste tanto por mim.) Estás deitado nesta margem quente, neste incrível dia de Outubro, à hora em que o Sol se põe mas tudo é ainda
claro, a ver passar os barcos através dos ramos despenteados do salgueiro. Queres ser poeta; queres amar. Mas a claridade esplêndida da tua inteligência, a honestidade
impiedosa do teu intelecto (foi contigo que aprendi estas palavras latinas; tratam-se de qualidades que possuis e que me deixam pouco à vontade, revelando os pontos
fracos do meu próprio eu) obrigam-te a parar. És incapaz de te deixar mistificar. Não te iludes com nuvens cor-de-rosa e amarelas.
Será que estou certo? Terei lido correctamente o gesto da tua mão esquerda? Se assim foi, deixa-me ver os teus poemas; com a mão por sobre as folhas, ontem
à noite escreveste de forma tão inspirada, que agora te estás a sentir um tudo-nada idiota. O certo é que não confias na inspiração, nem na tua nem na minha. O melhor
a fazer é passarmos a ponte, caminhar por baixo dos ulmeiros, e voltar ao meu quarto, onde, apenas com as paredes à nossa volta e as cortinas de sarja vermelha corridas,
podemos manter longe de nós estas vozes que nos distraem, estes cheiros e sabores a lima e a outras vidas; a estas caixeirinhas insolentes que arrastam os pés; a
estas olhadelas furtivas que nos são enviadas por uma qualquer figura vaga e indistinta – talvez a Jinny, talvez a Susan, ou seria antes a Rhoda, desaparecendo ao
fundo da alameda? Mais uma vez, e apenas devido a uma ligeira piscadela de olhos, volto a adivinhar o que sentes; escapei-te; desapareci a zumbir como se fosse um
enxame de abelhas, sem qualquer vestígio da tua capacidade de se fixar num único objecto sem sentir remorsos. No entanto, acabarei por voltar.
– Onde existem edifícios como estes – disse Neville –, não suporto a presença de caixeirinhas. Sinto-me ofendido pela sua tagarelice, pelos seus risinhos;
é algo que perturba a minha calma, fazendo com que, em momentos da mais pura exaltação, me veja obrigado a lembrar a degradação humana.
Mas agora, depois das bicicletas, do odor a lima e das figuras que desapareciam nas esquinas, reconquistamos o território que nos pertence. Aqui, somos mestres
da tranquilidade e da ordem; herdeiros de uma tradição orgulhosa. As luzes começam a abrir fendas na praça. O nevoeiro que se eleva do rio vai enchendo estes espaços
antigos. Com toda a suavidade, vão-se agarrando às pedras esbranquiçadas. Nas encostas, as folhas tornaram-se pesadas, as ovelhas balam nos campos úmidos; contudo,
no teu quarto estamos secos. Falamos na maior das intimidades. As chamas elevam-se e esmorecem, fazendo brilhar um qualquer puxador.
Tens andado a ler Byron. Sublinhaste as passagens que parecem estar de acordo com a tua personalidade. Descubro traços por baixo de todas as frases que parecem
exprimir uma natureza, não só sardônica mas também apaixonada; uma impetuosidade que, semelhante a uma borboleta, se precipita contra um vidro duro. Quando pegaste
no lápis, por certo que pensaste: “Eu também dispo a capa da mesma maneira. Eu também estalo os dedos no rosto do destino, desafiando-o”. Porém, Byron nunca fez
chá como tu fazes, enchendo o bule de forma tal, que, quando pões a tampa, o líquido se espalha pela mesa. Existe agora no tampo da mesa uma espécie de lago castanho,
e este espalha-se por entre os teus livros e papéis. Acabas por tentar ensopar o líquido, desajeitado, usando o lenço de assoar. Voltas a guardar o lenço no bolso
– isso não é Byron; és tu; és de tal maneira tu que, daqui a vinte anos, quando formos ambos famosos, atacados pelo reumático e intolerantes, será precisamente por
causa desta cena que te recordarei. E, se por acaso tiveres morrido, chorarei. Houve um tempo em que eras discípulo de Byron; talvez um dia o venhas a ser de Meredith;
depois, hás-de ir a Paris durante as férias da Páscoa e voltarás de gravata preta, transformado em qualquer francês detestável de que nunca se ouviu falar. Deixarei
então de ser teu amigo.
Limito-me a ser uma pessoa – eu. Não tento representar o papel de Catulo, a quem adoro. Sou o mais aplicado de todos os alunos, sempre agarrado a este dicionário
ou àquele bloco de apontamentos, onde acabo por notar todas as formas curiosas de usar o particípio passado. Contudo, ninguém pode passar a vida a desbastar todas
estas inscrições antiquíssimas. Deverei sempre correr o cortinado de forma a ver o livro que leio, semelhante a um bloco de mármore, única e exclusivamente à luz
pálida da lâmpada? Seria de facto uma vida grandiosa; uma espécie de dependência da perfeição; seguir a curva da frase fosse ela para onde fosse, para os desertos,
para as dunas, sem prestar qualquer atenção aos chamados que nos costumam esperar pelo caminho; ser sempre pobre e desamparado; fazer figuras ridículas em Picadilly.
Porém, sou demasiado nervoso para terminar as frases do modo mais apropriado. Falo muito depressa e ando de um lado para o outro, tentando ocultar a minha
agitação. Odeio os lenços gordurosos que possuis – vais acabar por manchar o teu Don Juan. Não me estás a ouvir. Estás antes a falar a respeito de Byron. E enquanto
vais gesticulando, ainda de capa e bengala, tento revelar um segredo que ainda ninguém sabe; estou a pedir-te (é isso que faço mesmo com as costas viradas para ti)
para que tomes a minha vida nas mãos e me respondas se estou condenado a causar sempre má impressão em todos aqueles que amo.
Estou de costas viradas para o teu gesticular. Não, as minhas mãos não podiam estar mais sossegadas. É então que procuro um espaço vazio entre os livros da
estante e aí coloco o teu exemplar do Don Juan. Preferiria ser amado, preferiria ser famoso, a perseguir a perfeição através da areia. Mas será que estou condenado
a provocar a aversão alheia? Serei poeta? Toma, aceita. O desejo que se esconde atrás dos meus lábios, frios como chumbo, mais parece uma bala, algo que aponto às
caixeiras, às mulheres, à falsidade e vulgaridade da vida (e isto precisamente porque a amo) e dirige-se na tua direcção. Apanha – é o meu poema.
– Ele disparou algo semelhante a uma seta – disse Bernard. – Deixou-me o seu poema. Ah, amizade, também eu colocarei flores entre as páginas dos sonetos de
Shakespeare! Ah, amizade, como são penetrantes os teus dardos – ali, ali, mais uma vez ali. Voltou-se para mim, olhou-me bem nos olhos; deixou-me o seu poema. Todos
os vapores se escoam através da chaminé do meu ser. Guardarei até à morte a confiança por ti demonstrada. Semelhante a uma onda de grandes dimensões, semelhante
a uma coluna de águas pesadas, ele passou-me por cima (ou pelo menos a sua presença devastadora) e deixou a descoberto todos os seixos existentes na praia que é
a minha alma. Foi humilhante; vi-me transformado numa série de pequenas pedras. Desapareceram todas as semelhanças. Tu não és o Byron; és apenas tu mesmo. É tão
estranho que alguém nos tenha obrigado a ficar reduzidos a um único ser.
É tão estranho sentir que a linha que se estende a partir de nós vai avançando ao longo dos espaços enevoados que constituem o mundo exterior. Ele já partiu.
Eu fiquei, segurando o seu poema. Entre nós existe esta linha. Contudo, é tão reconfortante saber que aquela presença estranha deixou de se fazer sentir, que deixei
de ser observado! E tão bom correr os estores e admitir que não está mais ninguém presente, sentir que todas aquelas figuras familiares que ele e a sua força superior
fizeram fugir, regressam dos cantos escuros onde se refugiaram. Os espíritos observadores e trocistas que, mesmo neste momento, de crise, zelaram por mim, voltam
a casa. Com a sua ajuda, sou; o Bernard; sou Byron; isto, aquilo, aquele outro. Escurecem o ar e tornam-me mais rico com as suas atitudes trocistas, os seus comentários,
obscurecendo a simplicidade deste momento de emoção. É que eu tenho mais personalidade do que aquela que o Neville julga. Não somos tão simples como aquilo que os
nossos amigos gostariam que fôssemos. No entanto, amar é simples.
Eles regressam, os meus companheiros, a minha família... Agora, a ferida aberta pelo Neville está prestes a sarar. Estou praticamente completo; reconheço o
quanto sou alegre fazendo entrar em cena tudo o que o Neville ignora a meu respeito. Ao afastar as cortinas para observar o que se passa lá fora, sinto que o facto
pouco ou nenhum prazer lhe daria; mas a mim faz-me rejubilar. (Servimo-nos dos amigos para medir o quanto valemos.) A minha visão abrange aquilo que o Neville é
incapaz de alcançar. Lá fora há quem cante canções de caça. Estão a fazer uma espécie de corrida com os perdigueiros. Os rapazinhos de boné não param de bater nos
ombros uns dos outros e de se gabar. Todavia, o Neville, evitando todo o tipo de interferência e semelhante a um conspirador, escapa-se sorrateiramente para o quarto.
Vejo-o afundar-se na cadeira e olhar para as chamas da lareira, que, durante breves instantes, assumiu uma solidez arquitectónica. Pensa no quanto seria bom se a
vida pudesse assumir essa permanência, se a vida pudesse apresentar a mesma ordem – pois aquilo que ele mais deseja é a ordem, detestando a minha desordem byroniana.
É então que corre a cortina e o fecho da porta. Os seus olhos (pois o certo é que o rapaz está apaixonado; a figura sinistra do amor presidiu ao nosso encontro)
enchem-se de desejo; enchem-se de lágrimas. Agarra no atiçador e, com um só gesto, destrói a aparência momentânea de solidez que até então caracterizou os carvões
incandescentes. Tudo muda. A juventude e o amor. O barco passou através do arco constituído pelos salgueiros e está agora debaixo da ponte. O Percival, o Tony, o
Archie, e talvez mais um ou outro, irão para a Índia. Nunca mais nos veremos. Estende então a mão para o bloco de apontamentos – um caderno grosso e embrulhado em
papel mosqueado – e começa a escrever febrilmente, imitando o poeta que mais admira de momento.
Porém, eu quero ficar; debruçar-me à janela; escutar. Lá vem de novo o refrão. Os rapazes estão agora a partir louça – trata-se de algo que também faz parte
da convenção. O refrão, semelhante a uma avalancha de enormes rochas, assalta brutalmente as velhas árvores, e deságua num abandono esplêndido em todos os precipícios.
E lá vão eles a rolar, a galopar, atrás dos cães, atrás das bolas de futebol; sobem e descem como se fossem sacos de farinha agarrados a remos. As divisões desapareceram
– agem como um único homem. O vento forte de Outubro arrasta o tumulto pelo pátio, transformando-o numa malha de som e silêncio. Estão de novo a partir louça – também
isso faz parte da convenção. Uma mulher de idade segue para casa avançando a passo incerto, ao mesmo tempo que transporta uma mala. Vê-se que tem receio que a ataquem
e a deixem caída na sarjeta. Mesmo assim, acaba por parar como se quisesse aquecer as mãos deformadas pelo reumático à chama quente da fogueira, de onde se elevam
inúmeras faúlhas e pedaços de papel. A velhota pára frente à janela iluminada. É isso que sinto, mas o Neville é incapaz de o fazer. É essa a razão que o fará alcançar
a perfeição, enquanto eu me limitarei a deixar atrás de mim uma série de frases imperfeitas, inundadas de areia.
Vem-me agora à mente a imagem do Louis. Que luz maléfica, se bem que inquiridora, lançaria ele sobre este entardecer outonal, sobre este partir de objectos
de louça e este trautear de canções de caça, sobre o Neville, Byron, e a vida que aqui levamos? Os seus lábios finos estão como que cosidos; o rosto é muito pálido;
encontra-se num escritório, embrenhado na leitura de um qualquer documento oficial obscuro. “O meu pai, que é banqueiro em Brisbane – apesar de se envergonhar dele,
está sempre a falar no pai – falhou”. – É por isso que se encontra sentado no escritório, o Louis, o melhor aluno da escola. Todavia, e dado que ando sempre à procura
de contrastes, é com frequência que vejo que tem os olhos trocistas, selvagens, poisados em nós, somando-nos como se fôssemos algarismos insignificantes numa qualquer
conta de grandes dimensões, cujo total não pára de perseguir. E, mais cedo ou mais tarde, molhando em tinta vermelha o aparo de uma qualquer bela caneta, a soma
estará completa; saberemos qual o nosso total; contudo, isso não chegará.
Bang! Acabaram de atirar uma cadeira contra a parede. Sendo assim, estamos condenados. O meu caso é igualmente dúbio. Não estarei eu a deixar-me levar por
emoções injustificadas? Sim, quando me debruço à janela e deixo cair o cigarro, fazendo-o girar levemente até poisar no chão, sinto que o Louis está também a observá-lo.
E diz: “Isso significa qualquer coisa. Mas quê?”.
– As pessoas continuam a passar – disse Louis. – Estão sempre a passar frente à janela deste restaurante. Automóveis, carrinhas, autocarros; e mais uma vez
autocarros, carrinhas, automóveis, todos passam pela janela. Como pano de fundo, apercebo-me da existência de lojas e casas, e também das espirais cinzentas de uma
igreja. Bem à minha frente encontram-se prateleiras de vidro onde repousam pratos carregados de bolos de leite e sandes de fiambre. Tudo isto é como que tornado
difuso pelo vapor que se eleva de um bule de chá. Bem no centro do restaurante paira um cheiro gorduroso a carne de vaca e carneiro, a salsichas e a papas. Encosto
o livro a uma garrafa de molho de Worcester e tento parecer-me com todos os outros.
Porém, nunca o consigo. (Eles continuam a passar, continuam a passar numa procissão desordenada.) Não consigo ler, nem mesmo pedir que me tragam a carne, com
um mínimo de convicção. Estou sempre a repetir “Sou um inglês médio; sou um funcionário público médio”, mas acabo sempre por olhar para o homem sozinho da mesa ao
lado para me certificar do que ele faz. De rostos flexíveis e peles elásticas, a multiplicidade das sensações com que se debatem fazem-nos estar constantemente a
estremecer. Semelhantes a macacos, bastante engordurados como convém à situação. Enche demasiado a sala a um deles. Vendo-o por dez libras. As pessoas continuam
a passar; continuam a passar recortando-se contra as espirais da igreja e as sandes de fiambre. A linha condutora dos meus pensamentos é profundamente afectada por
esta desordem. É por isso que não me consigo concentrar no jantar. “Vendo-o por dez libras. É um móvel bonito mas enche-me demasiado a sala.” Precipitam-se para
as águas como mergulhões com as penas escorregadias devido ao óleo. Todos os excessos que estão para além daquela norma podem ser considerados como vaidade. É isto
o meio-termo; é isto a média. Enquanto isso, os chapéus não param de balançar para baixo e para cima; a porta não pára de se abrir e fechar. Tenho consciência do
fluxo, da desordem; do aniquilamento e do desespero. Se isto é tudo, então não vale a pena. Mesmo assim, não deixo de sentir o ritmo do restaurante. É como se de
uma valsa se tratasse, rodopiando, sempre a rodopiar. As criadas, balançando travessas, não param de girar leite-creme; entregam-nos na altura certa, ao cliente
certo. Os indivíduos normais, incluindo o ritmo delas nos seus próprios ritmos (“Vendo-o por dez libras; aquilo está-me a encher a sala”) aceitam as saladas, os
damascos, os pratos de leite-creme. Onde estará, pois, a brecha dentro de toda esta continuidade? Através de que fissura poderemos nós antecipar a catástrofe? O
círculo não se quebra; a harmonia está completa. É aqui que se situa o ritmo central; é aqui que se encontra a mola comum. Vejo-a expandir e contrair, apenas para
de pronto voltar a se expandir. Contudo, estou de fora. Se falo, imitando a sua pronúncia, ficam de orelhas arrebitadas, à espera que volte a falar, pois estão desejosos
de saber de onde venho – se do Canadá se da Austrália. Eu, que acima de tudo desejo ser amado, sou um estranho, uma criatura que não pertence ao meio. Eu desejaria
sentir fechar-se sobre mim as ondas protectoras da vulgaridade, consegui ver pelo canto do olho um qualquer horizonte distante; apercebo-me de um mar de chapéus
agitando-se para cima e para baixo, numa desordem permanente. É a mim que se dirigem as queixas dos espíritos errantes dos distraídos (uma mulher de dentes estragados
tropeça junto ao balcão). “Leva-nos de volta ao rebanho, a nós, que caminhamos de forma tão dispersa, baloiçando-nos para cima e para baixo, tendo como pano de fundo
vitrinas com pratos de sandes de fiambre. Sim, acabarei por vos reduzir à ordem.
Vou ler o livro que está encostado à garrafa de molho de Worcester. Trata-se de um livro com alguns anéis bastante apertados, algumas afirmações perfeitas,
poucas palavras, mas poesia. Vós, todos vós, ignoram-no. Já se esqueceram do poeta morto. E eu não as posso traduzir para vós de forma a que o poder que delas emana
vos faça ver com clareza a falta de objectivos que vos caracteriza; o quanto o vosso ritmo é barato e inútil; removendo assim aquela degradação que, a não se aperceberem
da vossa falta de objectivos, vos tornará senis mesmo quando jovens. A minha missão será traduzir este poema de forma a torná-lo acessível a todos. Eu, o companheiro
de Platão e de Virgílio, também baterei à porta de painéis de carvalho. Não me submeterei a este desfile inútil de chapéus de coco e cartolas, bem assim como a todas
as plumas que ornamentam as cabeças das mulheres. (A Susan, a quem tanto respeito, limita-se a usar um chapéu de palha durante o Verão, quando o sol é forte.) E
os grãos de vapor que escorrem em gotas desiguais pelo caixilho da janela; e as paragens e os arranques bruscos dos autocarros; e os tropeções junto ao balcão; e
as palavras que vagueiam de forma lúgubre e sem qualquer sentido humano; tudo isto porei em ordem.
As minhas raízes atravessam veios de chumbo e prata, locais úmidos e pântanos que exalam odores, até atingirem um nó feito de raízes de carvalho, bem no centro
do mundo. Surdo e cego, com os ouvidos cheios de terra, mesmo assim escutei rumores de guerras; e também de rouxinóis; senti o som dos passos de inúmeras colunas
de soldados precipitando-se em defesa da civilização, mais ou menos como se fossem aves migratórias em busca do Verão; vi mulheres transportando ânforas vermelhas
até às margens do Nilo. Acordei num jardim, com uma pancada na nuca e um beijo quente; era a Jinny. Lembro-me de tudo isto como alguém que se lembra de gritos confusos
e do desmoronar de colunas negras e vermelhas no decorrer de um qualquer confronto nocturno. Não paro de dormir e de acordar. Ora durmo; ora acordo. Vejo o bule
de chá; as vitrinas repletas de sandes de um amarelo-pálido; os homens de casacões compridos empoleirados nos bancos junto ao balcão; e também, bem atrás deles,
a eternidade. Trata-se de uma imagem que me foi gravada na carne por um homem encapuzado empunhando um ferro em brasa. Vejo este restaurante recortar-se contra as
asas multicoloridas das aves que pertencem ao passado. É por isso que comprimo os lábios, que tenho uma palidez doentia; é daí que vem o meu aspecto pouco simpático
e a amargura com que viro o rosto na direcção do Bernard e do Neville, que passeiam por entre os teixos, que herdam cadeiras de baloiço; e que correm as cortinas
para que a luz das lâmpadas incida sobre os livros que estão a ler.
A Susan merece o meu respeito porque sabe coser. Está sentada a costurar à luz de uma pequena lâmpada, numa casa onde os campos de milho chegam quase até à
janela, facto que me dá bastante segurança. O certo é que sou o mais fraco e o mais novo de todos eles. Sou uma criança que olha para os pés e para os pequenos canais
que a água abriu no cascalho. Digo para mim mesmo que isto é um caracol e aquilo uma folha. Delicio-me com os caracóis; delicio-me com as folhas. Serei sempre o
mais jovem, o mais inocente, o mais crédulo. Vocês estão todos protegidos. Eu estou nu. Quando a empregada se desloca, é para vos entregar os damascos e o leite-creme
sem qualquer hesitação, como uma irmã. Vocês são seus irmãos. Mas quando me levanto, sacudindo as migalhas do sobretudo, coloco uma gorjeta demasiado elevada, um
xelim, bem debaixo do prato, pois assim ela só a poderá encontrar depois de eu ter saído, e o seu desprezo, revelado por uma gargalhada, só me poderá atingir depois
de eu ter passado as portas de vaivém.
– O vento levanta a persiana – disse Susan. – Jarras, taças, tapetes, e até mesmo a velha poltrona coçada, aquela que tem um buraco, tudo se tornou distante.
As mesmas listras desmaiadas espalham-se pelo papel de parede. As aves deixaram de cantar em coro, e apenas uma teima em o fazer, junto à janela do quarto. Vou calçar
as meias e esgueirar-me em silêncio pela porta, atravessar a cozinha e o jardim, passar junto à estufa e acabar no prado. É ainda muito cedo. A charneca está coberta
de nevoeiro. O dia é duro e áspero como uma mortalha de linho. Porém, acabará por se tornar macio e por aquecer. A esta hora, a esta hora matinal e calma, julgo-me
o campo, o celeiro, as árvores; os bandos de aves pertencem-me, o mesmo se passando com esta jovem lebre, que dá um passo no preciso momento em que a estou prestes
a pisar. Minha é a garça que, com indolência, estende as enormes asas; a vaca que vai ruminando à medida que avança; o vento e as andorinhas ariscas; o vermelho
desmaiado do céu e o verde em que este acaba por se transformar; o silêncio e os sinos a tocar; o chamamento do homem que atrela os cavalos ao carro, tudo me pertence.
Não posso ser dividida, separada. Mandaram-me para a escola; mandaram-me para a Suíça para completar a minha educação. Odeio linóleo; odeio figueiras e montanhas.
Deixem-me antes deitar neste solo liso, tendo por cima de mim um céu muito pálido onde as nuvens se movem devagar. O carro vai-se tornando cada vez maior à medida
que sobe a estrada. As aves juntam-se no meio do correio – ainda não precisam de voar. O fumo vai-se elevando. A rigidez do amanhecer vai desaparecendo. O dia começa
a se agitar. Assiste-se ao regressar da cor. As cearas e o dia vão-se tornando amarelos. A terra pesa bastante por baixo dos pés.
Mas, afinal, quem sou eu, esta pessoa que se encosta ao portão e observa o nariz do cão que a acompanha? Às vezes penso (ainda não cheguei aos vinte) que não
sou uma mulher, mas antes a luz que incide neste portão, no solo. Por vezes, penso ser as estações do ano, Janeiro, Maio, Novembro; a lama, o nevoeiro, a alvorada.
Não posso ser empurrada para o meio dos outros sem me misturar com eles. Contudo, apoiada ao portão, sinto um peso que se formou junto a mim e me acompanha. Na Suíça,
quando estava na escola, formou-se em mim qualquer coisa, qualquer coisa de forte.
Nada de suspiros e gargalhadas, de rodeios e frases ingênuas; nada que se compare à estranha forma de comunicar característica da Rhoda, o modo como ela nos
olha por cima do ombro quando nos avista; nem as piruetas da Jinny, uma criatura que parece ter sido feita de uma só peça, tronco e membros. O que tenho para dar
é pesado. Não consigo flutuar com suavidade nem misturar-me com os outros. Prefiro o olhar dos pastores que encontro no caminho; o olhar das ciganas que alimentam
os filhos ao lado das carroças, exactamente do mesmo modo que amamentarei os meus filhos. Já não falta muito para que, ao calor do meio-dia, com as abelhas a zumbir
em torno das malvas, o meu amado entre em cena. Por certo que estará à sombra do cedro. Responderei à sua saudação com apenas uma palavra. Dar-lhe-ei aquilo que
se formou em mim. Terei filhos, criadas de avental, camponeses com forquilhas, uma cozinha para onde levarão os cordeiros doentes para que se possam aquecer, onde
os presuntos e as réstias de cebolas brilharão à luz. Serei como a minha mãe, silenciosa no seu avental azul, fechando à chave todos os armários.
Estou com fome. Vou chamar o cão. Vêm-me à ideia imagens de côdeas, miolo de pão, manteiga e pratos brancos colocados numa divisão cheia de sol. Voltarei a
casa através dos campos. Caminharei por entre a erva com passadas fortes e regulares, ora desviando-me para evitar uma poça ora saltando por cima de um arbusto.
Vão-se formando gotas de suor na minha camisa grosseira; os sapatos tornam-se flexíveis e escuros. O dia já não revela sinais de dureza; antes adquiriu tonalidades
cinzentas, verdes e ocres. As aves deixaram de se concentrar na estrada.
Regresso, qual raposa ou gato em cujas peles a geada deixou manchas cinzentas e cujas patas endureceram devido ao contacto com a terra dura. Abro caminho através
das couves, o que faz com que as suas folhas estalem e o orvalho que nelas repousa vá caindo aos poucos. Sento-me à espera de ouvir os passos do meu pai arrastando-se
através da passagem, apertando uma qualquer erva entre os dedos. Vou enchendo chávena após chávena, enquanto as flores que ainda não abriram se mantêm muito direitas
na jarra que se encontra na mesa, por entre os frascos de compota, os pãezinhos e a manteiga.
Mantemo-nos em silêncio.
Vou até ao armário e pego nas sacas úmidas onde se guardam as sultanas; espalho a farinha na mesa da cozinha, a qual está impecavelmente limpa. Amasso; estendo;
bato; enfio as mãos no interior quente da massa. Deixo que a água fria se espalhe por entre os meus dedos. O lume ruge; as moscas zumbem em círculos. Todas as minhas
passas-de-corinto e bagos de arroz, os saquinhos azuis e prateados, tudo isto voltou a ser fechado no armário. A carne está ao lume; a massa para o pão vai aumentando
de tamanho por baixo de uma toalha limpa, adquirindo o formato de uma cúpula. De tarde, desço até ao rio. O mundo está-se a reproduzir por inteiro. As moscas vão
voando de erva em erva. As flores estão pesadas devido ao pólen. Os cisnes vogam pelas águas na mais perfeita das ordens. As nuvens, agora quentes e manchadas de
sol, voam por sobre as colinas, deixando um rasto dourado na água e no pescoço dos cisnes. Levantando uma pata a seguir à outra, as vacas vão ruminando enquanto
percorrem o pasto. Vasculho a erva à procura de um cogumelo branco; parto-lhe o caule e apanho a orquídea cor de rubi que cresce junto a ele, acabando por juntar
ambas as coisas ao pé uma da outra, a terra ainda agarrada às raízes. Está na hora de ir para casa preparar o chá para o meu pai e servi-lo na mesa onde se encontram
as rosas vermelhas.
É então que chega a noite e se acendem as luzes. E quando a noite chega e as luzes se acendem, a hera como que fica iluminada por um halo amarelo. Sento-me
junto à mesa com a minha costura. Penso na Jinny; na Rhoda; e ouço o ruído provocado pelas rodas das carroças puxadas pelos cavalos da quinta ao regressarem a casa;
o vento nocturno traz-me o rugido do trânsito. Olho para as folhas que estremecem no jardim às escuras e penso: “Estão todos em Londres a dançar. A Jinny está a
beijar o Louis.”
– É tão estranho – disse Jinny – que as pessoas durmam, que apaguem as luzes e subam as escadas. A estas horas já tiraram os vestidos e puseram camisas de
dormir brancas. Já não há luzes em nenhuma daquelas casas. Os contornos das chaminés recortam-se contra o céu; na rua, umas duas lâmpadas ardem do modo que lhes
é peculiar quando delas ninguém precisa. Nas ruas só se vêem alguns pobres apressados. Nesta rua não existe ninguém; o dia terminou. Há alguns polícias nas esquinas.
No entanto, só agora começou a noite. Sinto-me brilhar na escuridão. Sinto o toque da seda nos joelhos. Esfrego suavemente uma perna contra a outra. Sinto no pescoço
o toque frio das pedras do colar. Sinto os pés comprimidos dentro dos sapatos. Estou sentada muito direita para não tocar com o cabelo no espaldar da cadeira. Estou
enfeitada, estou preparada. Esta é apenas uma pausa momentânea; o instante escuro. Os violinistas acabaram de levantar os arcos.
Neste momento ouço um carro parar. Faz-se luz numa faixa do pavimento. A porta vai-se abrindo e fechando. As pessoas estão a chegar; não falam; limitam-se
a entrar. Ouço o som sibilante provocado pelas capas deslizando pelos ombros dos que as despem. Trata-se do prelúdio, do princípio. Olho, espreito, espalho pó no
rosto. Tudo está certo; devidamente preparado. O meu cabelo descreve uma curva. Os meus lábios têm o devido tom de vermelho. Estou pronta a me juntar aos homens
e mulheres que percorrem a escada, os meus pares. Passo por eles e exponho-me aos seus olhares do mesmo modo que eles se expõem ao meu. Semelhantes a relâmpagos,
olhamo-nos sem mostrar sinais de reconhecimento ou de que estamos dispostos a abrandar. A comunicação é feita através dos corpos. É este o meu chamamento. É este
o meu mundo. Tudo está pronto e decidido; os criados, sempre, sempre presentes, pegam no meu nome, no meu nome fresco e desconhecido, e lançam-no à minha frente.
Entro.
Cá estão as cadeiras douradas nas salas vazias e como que à espera, e flores (maiores e muito mais paradas que as naturais) recortando-se contra as paredes
em manchas verdes e brancas. Foi com tudo isto que sonhei; foi tudo isto que pressagiei. Pertenço a este mundo. Piso com naturalidade as carpetes espessas. Deslizo
com facilidade por sobre os soalhos encerados. Sob esta luz, sob este cheiro, começo a me desdobrar, semelhante a um feto, cujas folhas se vão desdobrando aos poucos.
Paro. Tomo consciência deste mundo. Entre as formas brilhantes das mulheres, verdes, cor-de-rosa, cinzento-pérola, encontram-se os corpos direitos dos homens. Estão
vestidos de preto e branco; estão como que ocultos por detrás das roupas. Volto a ver a imagem de um túnel reflectida na janela. Aquela acaba por se mover. À medida
que avanço, as figuras pretas e brancas daqueles homens desconhecidos seguem-me com os olhos; quando me viro para olhar para um quadro, viram-se também. As suas
mãos como que esvoaçam em direcção aos laços que usam no pescoço. Tocam nos coletes, nos lenços de assoar. São muito jovens. Estão desejosos de causar boa impressão.
Sinto nascer em mim milhares de capacidades. Sou maliciosa, alegre, lânguida, melancólica. Apesar de estar como que enraizada, sinto-me flutuar. Com um aspecto completamente
dourado, flutuo naquela direcção e digo a este indivíduo: “Vem”. Ao me encolher, digo “Não” àquele outro. Há um que se afasta do grupo que se encontra debaixo do
camarim de vidro. Aproxima-se. Vem na minha direcção. Trata-se do momento mais excitante que alguma vez vivi. Flutuo. Ondulo. Estendo-me como uma planta aquática,
ora nesta ora naquela direcção, mas sempre presa a um ponto fixo, pois só assim ele poderá vir ao meu encontro. “Vem”, digo, “vem”. Pálido, de cabelo escuro, aquele
que se aproxima é melancólico, romântico. E eu mostro-me maliciosa, volúvel e caprichosa, precisamente porque ele é melancólico e romântico. Cá está ele, mesmo ao
meu lado.
Agora, com um ligeiro puxão, mais ou menos como uma lasca que é arrancada a uma pedra, sou arrastada: caio junto com ele; sou levada para longe. Deixamo-nos
levar por esta doce corrente. Saímos e entramos ao som desta música hesitante. As pedras impedem agora o deslize da corrente da dança; esta agita-se, estremece.
Acabamos por ser compelidos a nos juntar a esta enorme figura. Ela mantém-nos juntos; não nos conseguimos escapar das suas paredes sinuosas, hesitantes, abruptas.
Os nossos corpos, forte o dele, leve o meu, são forçados a se manter dentro deste corpo. Depois, como que para nos dar a ilusão de espaço, toma-nos nas suas dobras
sinuosas e embala-nos de um lado para o outro. De súbito, a música pára. Apesar disso, o meu sangue não pára de correr. A sala gira em meu redor.
Acaba por parar.
Anda, vamos passear por entre as cadeiras douradas. O corpo é mais forte do que aquilo que pensava. Estou mais tonta do que o que era suposto estar. Ninguém
mais me interessa a não ser este homem, cujo nome desconheço. Lua, achas que somos aceitáveis? Não seremos nós encantadores, eu de cetim ele de preto e branco? Os
meus iguais bem me podem agora olhar. Encaro-vos bem de frente, homens e mulheres. Pertenço ao vosso mundo. O vosso mundo é o meu. Pego agora neste cálice esguio
e bebo um gole do seu conteúdo. O vinho tem um sabor drástico, ácido. Sou obrigada a estremecer enquanto bebo. Aromas e flores, luz e calor, tudo aqui se concentra
num líquido amarelo, fogoso. Mesmo por trás das minhas costas, qualquer coisa seca e de olhos muito grandes, fecha-se sobre si mesma, embalando-se suavemente até
adormecer.
Chama-se a isto êxtase, alívio. A alavanca que me impedia de falar abranda a pressão que exercia. As palavras agrupam-se e acabam por jorrar, umas a seguir
às outras. A ordem é perfeitamente arbitrária. É como se saltassem para os ombros umas das outras. Os seres sós e solitários tropeçam e transformam-se em muitos.
Não interessa o que digo. Semelhante a uma nave a esvoaçar, uma frase atravessa o espaço vazio que se estende entre nós. Acaba por poisar nos lábios dele. Volto
a encher o copo. Bebo. Desce um véu entre nós. Encontro espaço no calor e na privacidade de uma outra alma. Encontramo-nos ambos num ponto muito alto, num qualquer
desfiladeiro a pino. Melancólico, ele deixa-se ficar no ponto mais elevado do trilho. Inclino-me. Pego numa flor azul e, em bicos dos pés para o poder alcançar,
prendo-lha no casaco. Pronto! Trata-se do meu momento de êxtase. E agora já passou.
Invadem-nos a preguiça e a indiferença. As pessoas continuam a passar. Perdemos consciência dos nossos corpos unidos, ocultos por sob a mesa. Também gosto
de homens louros, de olhos azuis. A porta abre-se. A porta não pára de se abrir. Digo para mim mesma que, da próxima vez que ela se abrir, o curso da minha vida
mudará. Quem é que acaba de entrar? Oh, trata-se apenas de um criado carregado de copos. Aquele é já um senhor de idade – junto a ele não passaria de uma criança.
Aquela é uma grande dama – a seu lado teria de fingir.
Vejo algumas raparigas da minha idade, em relação às quais sinto um antagonismo respeitável. Estou entre os meus. Pertenço a este mundo. É neste facto que
reside o meu risco, a minha aventura. A porta abre-se. Oh, vem, digo eu a este, emitindo sinais dourados com todo o corpo. “Vem”, e ele aproxima-se de mim.
– Mover-me-ei por trás deles – disse Rhoda –, como se tivesse visto alguém conhecido. Contudo, não conheço ninguém. Afastarei a cortina para ver melhor a Lua.
O esquecimento acalmará a agitação em que me debato. A porta abre-se; o tigre salta. A porta abre-se; o terror esgueira-se por entre ela; terror e mais terror, perseguindo-me.
Melhor será visitar às escondidas os tesouros que separei. No outro lado do mundo, há colunas reflectidas em lagos. As andorinhas mergulham as asas nos lagos escuros.
Contudo, a porta não pára de se abrir e as pessoas vão entrando; avançam todas na minha direcção. Com sorrisos falsos, destinados a disfarçar a crueldade, a indiferença,
apoderam-se de mim. A andorinha molha as asas; a Lua passeia solitária através de oceanos azuis. Sou obrigada a lhes apertar a mão; sou obrigada a responder. Mas
que resposta deverei dar? Sou obrigada a usar este corpo desajeitado, sem graça, e a aceitar as suas manifestações de desprezo, de indiferença, eu, que sonho com
colunas de mármore e lagos situados no outro lado do mundo, onde as andorinhas molham as asas.
A noite escureceu um pouco mais os contornos das chaminés. Do lado de fora, por sobre o ombro do meu companheiro, vejo um gato, ligeiro, à vontade, sem estar
inundado em luz, sem estar preso em seda, livre para parar, para se espreguiçar, para voltar a andar. Odeio todos os pormenores da vida individual. Contudo, sou
obrigada a escutá-los. Sinto em mim uma enorme pressão. Não me posso mover sem deslocar o peso de séculos. Sinto-me espicaçada por um milhão de setas. O desprezo
e o sentido do ridículo não param de me dar alfinetadas. Eu, que seria capaz de enfrentar o granizo, e, com toda a alegria, deixar o granizo sufocar-me, estou como
presa neste local; sinto-me exposta. O tigre salta. As línguas, semelhantes a chicotes, não param de me atingir. Ágeis, incessantes, não param de me bater. Tenho
de fingir e mantê-los à distância com mentiras. Qual será o amuleto capaz de me proteger deste desastre? Que rosto poderei invocar para apagar este incêndio. Penso
nos rótulos das caixas; em mães de cujos joelhos largos as saias se espalham; em clareiras onde desembocam os caminhos íngremes das montanhas. Escondam-me, grito,
pois sou a mais nova, a mais desprotegida de todos vós. A Jinny sente-se tão à vontade como uma gaivota cavalgando as ondas, distribuindo olhares à esquerda e à
direita, dizendo isto e aquilo, mas sempre com convicção. Enquanto isso, eu vejo-me obrigada a mentir.
Quando estou só, balanço as minhas taças; sou dona e senhora da minha frota de navios. Porém, aqui, a virar as pregas das cortinas de brocado da minha anfitriã,
sinto-me repartida em mil pedaços; deixei de ser una. De que será então feita a sabedoria que a Jinny demonstra ao dançar; a certeza revelada pela Susan quando,
inclinando-se suavemente junto ao candeeiro, enfia a linha de algodão branco através do buraco da agulha? Elas dizem Sim; elas dizem Não; eles batem com os punhos
na mesa. Mas eu tenho dúvidas; estremeço; vejo a sombra do espinheiro selvagem projectar-se no deserto.
Tal como se tivesse um fim em vista, vou atravessar a sala até chegar à varanda por baixo do toldo. Vejo o céu, a que o luar confere uma aparência suave. Observo
igualmente os contornos da praça e os dois indivíduos sem rosto que se recortam como estátuas contra o firmamento. Trata-se, pois, de um mundo imune a mudanças.
Ao passar por esta sala repleta de línguas que me cortam como se fossem facas, fazendo-me gaguejar, levando-me a mentir, encontrei rostos sem feições, despojados
de beleza. Os casais de namorados ocultam-se por entre as árvores. O polícia está de sentinela a uma esquina. Um homem passa. Trata-se de um mundo imune a mudanças.
Todavia, ainda não me recompus o suficiente, apoiada em bicos de pés junto à lareira, afogueada devido ao ar quente, com medo que a porta se abra e o tigre salte,
com medo até de formar uma frase. Tudo o que digo está sujeito a ser permanentemente contrariado. Sou interrompida de cada vez que a porta se abre. Ainda não fiz
os vinte e um. Estou destinada a ser despedaçada. Estou destinada ao ridículo. Estou destinada a vogar ao sabor das línguas de todos estes homens e mulheres de rostos
contraídos, tal como se fosse um pedaço de cortiça a boiar num mar encapelado. Semelhante a uma alga, sou atirada para longe de cada vez que a porta se abre. Sou
a espuma que cobre de branco os contornos das rochas, até mesmo os mais recônditos; aqui, nesta sala, também sou uma rapariga. Depois de ter abandonado as almofadas
verdes onde se reclinava, espreitando furtivamente através das jóias marinhas, o Sol mostrou o rosto e olhou de frente para as ondas. Estas caíam a um ritmo regular.
Caíam provocando um som semelhante ao dos cascos dos cavalos na turfa. Os salpicos por si provocados elevavam-se como lanças empunhadas por sobre as cabeças dos
cavaleiros. Enchiam a praia com as suas águas de um azul metalizado, salpicadas de brilhos cor de diamante. Recuavam e avançavam com a força, a energia, de uma máquina
que não pára de trabalhar. O Sol incidia nos campos de milho e nos bosques. Os rios tornaram-se azuis e como que adquiriram muitas dobras, os relvados que se estendiam
até à beira-mar adquiriram uma coloração tão verde como a das penas das aves esvoaçando à brisa matinal. As encostas curvas e contraídas, davam a sensação de estarem
a ser puxadas por tenazes, mais ou menos como os músculos envolvem os membros; e os bosques, orgulhosamente eriçados nos seus flancos, lembravam as crinas dos cavalos
quando são cortadas rente.
No jardim, onde as árvores se erguiam frondosas por cima dos canteiros, dos charcos e das estufas, os pássaros cantavam ao sol, cada um por si mesmo e não
em coro. Um cantava por baixo da janela do quarto; outro, no ramo mais alto do lilás; outro ainda, empoleirado no muro. Todos cantavam de forma estridente com paixão,
com veemência, como se para deixarem o canto explodir, em nada se importando com o facto de arruinarem as melodias das outras aves. Os seus olhos redondos brilhavam
de excitação; as patas agarravam-se com força aos ramos e aos parapeitos. Cantavam, expostas e sem qualquer tipo de abrigo, ao ar e ao sol, belíssimas na sua nova
plumagem, estriada ou sarapintada como as conchas, aqui manchada de azul claro, ali salpicada de dourado, aqui e ali com uma simples pena a destoar do conjunto.
Cantavam como se a própria manhã as levasse a isso. Cantavam como se os contornos afiados da existência as obrigassem a quebrar a doçura da luz azul esverdeada;
a umidade da terra empapada lança emanações e exalações provenientes dos vapores oleosos da cozinha; o odor quente da carne de carneiro e de vaca; a riqueza dos
doces e das frutas; os restos moles e as cascas provenientes do caixote do lixo, sobre as quais pesava uma espécie de vapor pesado e lento. Era sobre todas estas
coisas encharcadas, manchadas e encarquilhadas devido à umidade, que as aves se lançavam, abruptas, impiedosas, de bico aberto. De repente, sem que nada o fizesse
prever, como que se atiravam dos lilases e das vedações. Observavam os caracóis somente para depois lhes partirem a casca de encontro a uma pedra. Batiam com fúria,
metodicamente, até a casca se partir e qualquer coisa de viscoso jorrar da fenda. Batiam de novo as asas e elevavam-se nos ares, emitindo notas curtas e agudas,
até acabarem por se empoleirar nos ramos superiores de uma qualquer árvore, de onde se deixavam ficar a observar as folhas e as espirais que se encontravam mais
abaixo, bem assim como o solo coberto de botões brancos, ervas que flutuavam ao vento, e o mar, batendo contra a praia, com um ritmo semelhante ao de um tambor,
que faz avançar um regimento de soldados envergando turbantes enfeitados de plumas. De vez em quando, as suas vozes uniam-se em escalas melodiosas, tal como acontece
com os vários cursos de água que percorrem as montanhas e que, ao se unirem, provocam uma corrente de espuma antes de se precipitarem cada vez mais depressa ao longo
do mesmo canal, arrastando consigo todas as folhas que encontram. No entanto, acabam por bater contra uma pedra; dividem-se.
Dentro de casa, o sol penetrava em colunas de contornos bem delineados. Tudo aquilo em que a luz tocava adquiria uma existência fanática. Os pratos transformavam-se
em lagos brancos. As facas aparentavam ser punhais de gelo. Sem que nada o fizesse prever, os copos pareciam estar suspensos em raios de luz. Cadeiras e mesas subiam
à superfície como se tivessem estado debaixo de água, e, ao se elevarem, era como se estivessem envoltas num véu de cores, vermelho, laranja, púrpura, mais ou menos
como a casca de um fruto maduro. Os veios que sulcavam as louças, os poros da madeira, as fibras dos tapetes, tudo se tornava mais nítido e como que melhor gravado
nos objectos a que pertenciam.
Coisa alguma possuía sombra. Uma determinada jarra era de tal forma verde, que os olhos que a fitavam eram como que sugados através de um canal devido à sua
intensidade, ficando a ela agarrados como lapas às rochas. Só então as formas indistintas ganhavam consistência. Via-se aqui o bojo de uma cadeira; ali, o volume
de um armário. E, à medida que a luz aumentava, arrastava à sua frente os bandos de sombras que antes ali haviam reinado, agrupando-os e suspendendo-os no pano de
fundo que suportava toda a cena.
– Que pálida, que estranha – disse Bernard – é a cidade de Londres com todas as suas torres e cúpulas, repousando sob o nevoeiro. Guardada por gasômetros e
chaminés de fábricas, a nossa aproximação não lhe perturba o sono. Ela aperta o formigueiro contra o peito. Todos os gritos e clamores estão suavemente envolvidos
em silêncio. Nem a própria Roma tem um ar mais majestoso. Mesmo assim, é para lá que nos dirigimos. A sua sonolência maternal começa já a dar mostras de não ser
muito natural. Por entre o nevoeiro elevam-se colinas cobertas de casas. Fábricas, catedrais, cúpulas de vidro, instituições e teatros, tudo isto surge perante os
nossos olhos. O primeiro comboio da manhã, vindo do Norte, dirigiu-se na sua direcção como se fosse um míssil. Afastamos a cortina para observar a paisagem. Rostos
vazios e expectantes olham-nos quando passamos pelas estações a grande velocidade. Como se antevissem a morte ao sentirem a deslocação de ar por nós provocada, os
homens agarram-se aos jornais com um pouco mais de força. Estamos prestes a explodir nos flancos da cidade, do mesmo modo que uma granada o faz junto ao corpo de
um animal majestoso, maternal. A cidade zumbe e sussurra; está à nossa espera.
Entretanto, à medida que vou espreitando pela janela do comboio, deixo-me invadir por uma sensação estranha, persuasiva, de que, e devido à minha grande felicidade
(estou noivo e vou-me casar), me tornarei parte desta velocidade, deste míssil disparado contra a cidade. A tolerância e a submissão deixam-me paralisado. Poderia
até dizer coisas como: “Meu caro senhor, por que se inquieta, por que razão pega na pasta e comprime contra ela o boné que usou durante toda a noite?”. Nada do que
fazemos tem utilidade. Paira sobre nós uma unanimidade esplêndida. O facto de termos todos o mesmo desejo – chegar à estação – transforma-nos numa massa uniforme
semelhante às asas cinzentas de um enorme ganso (ao fim e ao cabo, e apesar de a manhã ser bonita, o certo é que não tem qualquer cor). Não quero que o comboio pare
com um solavanco. Não quero quebrar a corrente que nos fez estar toda a noite sentados em frente uns dos outros. Não quero sentir que o ódio e a rivalidade voltaram
a reinar. A nossa comunidade, um grupo de indivíduos sentados num comboio apressado e com um único desejo em mente, chegar a Euston, era bastante simpática. Mas
atenção! Acabou-se. Conseguimos o que desejávamos. Chegamos à plataforma. Gera-se a pressa e a confusão quando todos se precipitam rumo ao portão, na tentativa de
serem os primeiros a chegar ao elevador. Contudo, não quero ser o primeiro a assumir o fardo de possuir uma vida individual. Eu, desde segunda-feira (o dia em que
ela me aceitou), via-me confrontado com um profundo sentimento de identidade, de tal forma que não podia ver a escova de dentes no copo sem dizer “A minha escova
de dentes”, não desejo agora outra coisa senão abrir as mãos e deixar cair todos os meus haveres, limitar-me a ficar na rua sem participar, a observar os autocarros,
sem sentir quaisquer desejos; sem invejas; apenas com aquilo a que se poderia chamar uma curiosidade ilimitada a respeito do destino humano, e isto se a minha mente
ainda tivesse limites. Contudo, já nada possui. Cheguei; fui aceite. Nada peço em troca. Depois de me ter satisfeito como uma qualquer criança que acabou de mamar,
estou agora livre para me afundar nas profundezas de tudo o que passa, nesta vida omnipresente e geral. (Só agora me apercebo do papel importante desempenhado pelas
calças; de nada serve possuir uma cabeça inteligente se as calças estiverem coçadas.) É possível observar-se algumas hesitações curiosas à porta do elevador. Por
este lado e por aquele, pelo outro? É então que a individualidade se impõe. Acabam todos por partir. São impelidos por uma qualquer necessidade. Um qualquer assunto
insignificante, por exemplo, chegar a horas a um encontro, comprar um chapéu, separar estes belíssimos seres humanos até então fortemente unidos.
Pela parte que me toca, não tenho objectivos. Não tenho ambições. Deixar-me-ei levar pelos impulsos gerais. A superfície da minha mente desliza como um fio
de água cinzento-claro que reflecte tudo por onde passa. Não me consigo lembrar do meu passado, do meu nariz, nem sequer da cor dos meus olhos, já para não falarmos
da opinião geral que formo a meu respeito. Apenas em situações de emergência, num cruzamento, numa berma, me vejo frente a frente com o desejo de preservar o meu
corpo, o qual me agarra e me obriga a parar aqui, frente ao autocarro. Parece que nos recusamos a deixar de viver. Depois, a indiferença volta a descer sobre nós.
O rugir do trânsito, a passagem de tantos rostos impossíveis de diferenciar, este ou aquele caminho, tudo me intoxica e me faz sonhar; tudo apaga as feições das
faces dos que comigo se cruzam. As pessoas quase me podiam atravessar. Para mais, qual o significado deste instante, deste dia específico em que me vi envolvido?
Os ruídos do tráfego podem ser comparados a outros sons – o das árvores a restolhar e o rugir dos animais selvagens. O tempo como que fez recuar um pouco a sua progressão;
o nosso avanço parece ter sido cancelado. Para falar com franqueza, acho que os nossos corpos estão nus. Estamos apenas revestidos por um tecido com botões; e por
baixo destes passeios existem conchas, ossos e silêncio.
E claro que, tal como acontece durante o sono, as minhas tentativas para ir além da superfície do rio, os meus sonhos, são interrompidos, puxados, distorcidos
por sensações, espontâneas e irrelevantes, de curiosidade, ganância e desejo. (Cobiço aquela mala, etc...) Não, mas desejo ir mais fundo; visitar as profundezas;
de vez em quando dar-me ao luxo de nem sempre agir, mas também de explorar; de escutar sons vagos e ancestrais de ramos a partir, de mamutes; de me deixar levar
pela fantasia impossível de abraçar o mundo inteiro com os braços do conhecimento – algo francamente impossível para aqueles que agem. Não estarei eu, à medida que
avanço, a ser percorrido por estranhos tremores e vibrações de simpatia, que, a nada terem a ver com um ser individual, me pedem para abraçar a multidão, estes mirones
e excursionistas baratos, estas raparigas furtivas e escorregadias que, ignorando a sombra negra que sobre elas paira, olham as montras das lojas? Porém, estou consciente
da nossa existência efêmera.
Todavia, é verdade que não posso deixar de negar a sensação de que a vida me foi misteriosamente prolongada. Será que poderei ter filhos, lançar sementes que
consigam sobreviver a esta geração, a estes indivíduos eternamente condenados, arrastando-se mutuamente pelas ruas numa competição incessante? As minhas filhas virão
passear aqui em verões que ainda não chegaram; os meus filhos desbravarão outros campos. É por isso que não somos gotas de chuva, de pronto secas pelo vento; fazemos
florescer os jardins e rugir as florestas; não cessamos de tomar formas diferentes, isto para todo o sempre.
São estas coisas que explicam a minha confiança, a estabilidade central (o que de outra forma seria monstruosamente absurdo) que demonstro ao enfrentar esta
multidão, abrindo sempre caminho por entre os corpos das pessoas, aproveitando os momentos seguros para atravessar. Não se trata de vaidade; o certo é que estou
despido de ambições; não me lembro dos meus dons ou idiossincrasias especiais, bem assim como das marcas características da minha pessoa: olhos, nariz ou boca. Pelo
menos neste momento, despojei-me de mim.
Mas atenção, sinto-o voltar. É impossível extinguir este cheiro persistente. Trata-se de algo que se infiltra na mais pequena fenda existente na estrutura
– a nossa identidade. Não pertenço à rua – não, observo-a. É assim que os indivíduos se isolam. Por exemplo, no cimo daquela rua secundária há uma rapariga à espera;
de quem? Uma história romântica. Na parede daquela loja vê-se uma pequena grua. É então que me pergunto qual o motivo que poderia ter levado aquele objecto a ser
ali colocado, e de pronto imagino a história de uma dama vestida de vermelho, inchada, gordíssima, sendo puxada de cabriolé por um marido alagado em suor, alguém
na casa dos sessenta. Trata-se de uma história grotesca. Claro que sou um falsário de palavras, alguém que usa tudo e mais alguma coisa para soprar bolas de sabão.
E, é à custa destas observações espontâneas que me vou elaborando, diferenciando, e, ao escutar a voz que murmura à minha passagem: “Olha! Toma nota disto!”, imagino-me
destinado a conceber, numa qualquer noite de Inverno, um significado para as minhas observações – uma série de linhas que se completam e que sumarizam tudo o que
vejo. No entanto, os solilóquios nas ruas secundárias não tardam a perder o interesse. Preciso de uma audiência. É precisamente aí que reside a minha desgraça. É
sempre isso que corta as arestas da frase fina, impedindo a sua formação. Não me consigo imaginar numa qualquer casa-de-pasto de aspecto sórdido, a pedir a mesma
bebida dia após dia, e a me deixar embebedar completamente num só líquido – esta vida. Construo uma frase e fujo com ela para uma qualquer sala bem mobiliada, onde
a luz de dezenas de velas a poderão iluminar. Sinto necessidade de olhos para poder empregar os meus floreados. Concluo que, para ser eu mesmo, necessito da luz
dos olhos de terceiros, e por isso não posso estar completamente seguro daquilo que sou. Os seres autênticos, por exemplo, o Louis e a Rhoda, só se revelam de forma
completa na maior das escuridões. Ressentem-se da luz, das cópias. Destroem os quadros anteriormente traçados a seu respeito, atirando-os contra o solo. As palavras
do Louis lembram blocos de gelo. São sólidas, compactas, douradas. Então, e depois desta sonolência, desejo brilhar, brilhar à luz que emana dos rostos dos meus
amigos. Tenho estado a atravessar o território sombrio da não identidade. Trata-se de uma terra estranha. Num momento de calma, num momento de satisfação avassaladora,
escutei os suspiros da corrente que flui e reflui para lá deste círculo de luz brilhante, deste tamborilar de fúria insensata. Por breves instantes, fui possuído
por uma enorme calma. Talvez a isto se chame felicidade. Uma série de sensações irritantes fazem-me voltar a mim; curiosidade, avidez (tenho fome), e o desejo irresistível
de ser eu mesmo. Penso nas pessoas a quem tenho coisas para dizer: o Louis, o Neville, a Susan, a Jinny e a Rhoda. Junto delas sou multifacetado. São elas que me
tiram das trevas. Graças a Deus, vamo-nos encontrar esta noite. Graças a Deus, não precisarei mais de ficar só. Vamos jantar juntos. Vamo-nos despedir do Percival,
que vai para a Índia. Apesar de a hora ainda vir longe, sinto as sombras dos amigos ausentes. Vejo o Louis, esculpido em granito, semelhante a uma estátua; o Neville,
exacto, cortante como uma tesoura; a Susan, com aqueles olhos semelhantes a pedaços de cristal; a Jinny, a dançar como uma chama, febril, quente, por sobre a terra
seca; e a Rhoda, a ninfa da fonte sempre úmida. Tratam-se de imagens fantásticas – estas visões dos amigos ausentes são irreais, grotescas, desaparecem ao primeiro
toque de uma bota verdadeira. Apesar disso, são elas que me mantêm vivo. São elas que afastam estes vapores. A solidão começa a me impacientar – sinto que todos
estes véus que me cercam se começam a soltar. Oh, como seria bom pô-los de parte e entrar em acção! Qualquer pessoa serviria. Não sou esquisito. O varredor das ruas
serviria; o carteiro; o empregado do restaurante francês; melhor ainda, o seu genial proprietário, cujo talento parece estar reservado para uma determinada pessoa.
É ele que prepara a salada com as suas próprias mãos para um certo convidado especial. Mas quem será este convidado especial, e porquê? E que estará ele a dizer
àquela senhora de brincos? Será ela uma amiga ou apenas uma cliente? Assim que me sento à mesa sinto-me invadido por todo um sentimento de confusão, de incerteza,
de especulação. As imagens não param de se formar. A minha fertilidade embaraça-me. Se assim o desejasse, poderia descrever todas as cadeiras, mesas e comensais
que aqui se encontram. Na minha mente não param de surgir palavras que se adaptam a tudo. O simples acto de falar ao criado a respeito do vinho é já provocar uma
explosão. O foguete não pára de subir. Os grãos dourados que dele se desprendem caem um a um no solo da minha imaginação, fertilizando. A natureza totalmente inesperada
da explosão – é aí que reside a maravilha do facto. Eu, misturado com um empregado italiano desconhecido – que sou eu? Não existe estabilidade neste mundo. Existirá
alguém capaz de descobrir o significado de todas as coisas? Quem será capaz de prever o voo de uma palavra? Trata-se de um balão que voa por sobre as copas das árvores.
É inútil falar sobre conhecimento. Nada mais existe para além de experiências e aventuras. Estamos permanentemente a misturarmo-nos com quantidades desconhecidas.
O que virá a seguir? Não sei. Mas, à medida que vou poisando o copo, lembro-me. Estou noivo e vou-me casar. Esta noite vou jantar com os amigos. Sou Bernard, eu
mesmo.
– Faltam cinco minutos para as oito – disse Neville. – Cheguei cedo. Ocupei o meu lugar à mesa dez minutos antes da hora prevista, pois só assim poderia saborear
todos os momentos de antecipação; ver a porta a abrir e dizer: Será o Percival? Não, não é o Percival. Sinto um prazer mórbido ao dizer: Não é o Percival. A porta
já se abriu e fechou cerca de vinte vezes, e a expectativa é cada vez maior. Estou no local onde ele acabará por chegar. Esta é a mesa onde se sentará. Aqui, e por
muito incrível que possa parecer, estará o seu corpo. Esta mesa, estas cadeiras, esta jarra de metal contendo três flores vermelhas, tudo isto está prestes a sofrer
uma transformação extraordinária. A própria sala, com as suas portas de vaivém, as mesas repletas de fruta e carnes frias, apresenta uma aparência irreal, desfocada,
própria de um local onde se espera vir a acontecer algo. As coisas estremecem como se ainda estivessem longe de possuir as características do ser. A brancura da
toalha como que resplandece. A hostilidade e a indiferença das outras pessoas que aqui jantam é opressiva. Entreolhamo-nos; vemos que não nos conhecemos e viramos
as costas. Tratam-se de olhares semelhantes a chicotadas. Sinto neles toda a crueldade e indiferença do mundo. Se ele não vier, serei incapaz de as suportar. Contudo,
e neste preciso momento, alguém o deve estar a ver. É provável que esteja dentro de um táxi; a passar por alguma loja. E a todo o instante ele parece fazer com que
a sala se encha de luz, desta intensidade do ser, obrigando as coisas a perder os seus usos normais – a lâmina desta faca transforma-se num raio de luz e deixa de
ser um objecto cortante. É a abolição do normal.
A porta abre-se, mas ainda não é ele. Trata-se do Louis, algo hesitante. Esta hesitação é uma estranha mistura de segurança e timidez. Ao entrar, olha de relance
para o espelho; passa a mão pelo cabelo; não está satisfeito com a sua aparência. Diz: “Sou um duque” – o último de uma raça antiga. É um ser amargo, desconfiado,
dominador, difícil (estou a compará-lo ao Percival). Ao mesmo tempo, e dado existir uma estranha alegria nos seus olhos, é um ser formidável. Acaba por me ver. Aí
vem ele.
– Ali está a Susan – disse Louis. – Ainda não nos viu.
Não está vestida para a ocasião, pois despreza a futilidade de Londres. Deixa-se estar à porta por alguns instantes, ofuscada pela luz de um candeeiro. Acaba
por se mover. Ao andar por entre as mesas e cadeiras, revela possuir os movimentos furtivos, se bem que seguros, de um animal selvagem. Parece possuir a capacidade
instintiva de abrir caminho por entre estas pequenas mesas sem tocar em nada nem em ninguém, sem prestar sequer atenção aos empregados, até chegar junto à nossa
mesa. Quando nos vê (a mim e a Neville) o seu rosto assume uma expressão de certeza alarmante, como se tivesse conseguido o que queria. Ser amado por ela seria o
mesmo que ser crucificado pelo bico afiado de uma ave, de ser pregado à porta do celeiro, e isto de uma vez por todas.
É agora a vez da Rhoda, que surge como que vinda de parte alguma, depois de ter entrado quando não estávamos a olhar. Por certo que seguiu uma rota tortuosa,
escondendo-se ora atrás de um criado ora atrás de um pilar, como se tivesse vontade de adiar o mais possível o momento do reconhecimento, como se quisesse certificar-se
de que poderia balançar a taça onde se encontram as suas pétalas por mais um momento.
Fazemo-la despertar. Torturamo-la. Teme-nos, despreza-nos, mas mesmo assim vem-se juntar a nós, pois, e apesar de toda a nossa crueldade, existe sempre um
nome, um rosto, que lança um brilho, que lhe ilumina o caminho e lhe dá a hipótese de voltar a sonhar.
– A porta abre-se, a porta não pára de se abrir – disse Neville –, mas ele continua a não aparecer.
– Lá está a Jinny – disse Susan. – Está mesmo junto à porta. Tudo parece ter parado. Os criados imobilizam-se. Os clientes que se encontram nas mesas junto
à porta olham. Dá a sensação de que concentra tudo. Em seu redor, mesas, portas, janelas, tectos, tudo se parece agrupar como que em raios concêntricos, semelhantes
aos que se formam em torno de uma estrela vista através de um vidro partido. É como se tivesse capacidade para pôr tudo em ordem. Acaba por nos ver e põe-se em movimento.
É então que os raios começam a flutuar na nossa direcção, trazendo-nos novas correntes de sensações. Mudamos. O Louis leva a mão à gravata. O Neville, que
revela sinais de quem sofre uma profunda agonia, endireita os talheres que estão à sua frente, isto não sem algum nervosismo. A Rhoda olha-a, surpreendida, como
se visse um incêndio alastrar num campo distante. E eu, muito embora tente pensar em erva e campos úmidos, no som da chuva a bater no telhado e nas rajadas de vento
que abanam a casa no Inverno, tentando assim proteger a alma contra ela, sinto-me cercada pela energia que dela se desprende, sinto as suas gargalhadas enrolarem-se
à minha volta com línguas de fogo a queimarem-me sem dó nem piedade o vestido gasto, as unhas cortadas rente, de tal forma que me vejo obrigada a escondê-las debaixo
da toalha.
– Ele não vem – disse Neville. – A porta não pára de se abrir e ele não chega. Quem lá vem é o Bernard. Como seria de esperar, ao tirar o casaco levanta os
braços de tal maneira, que qualquer um lhe pode ver os sovacos. E, ao contrário do que se passou com todos nós, vai andando sem precisar de abrir porta alguma, sem
sequer se aperceber de que entrou numa sala repleta de desconhecidos. Não olha para o espelho. Está despenteado, mas nem sequer se apercebe do facto. Não vê que
somos diferentes nem que é para esta mesa que se deve dirigir. Hesita durante breves instantes. Quem será aquela?, pergunta ele em voz baixa, pensando reconhecer
uma mulher embrulhada numa capa, daquelas com que se costuma ir à ópera. O certo é que ele pensa sempre que conhece toda a gente, quando a verdade é que conhece
ninguém (estou a compará-lo ao Percival). Contudo, ao nos reconhecer, esboça um aceno benevolente; inclina-se com tanta bondade, com tanto amor pela humanidade (ao
que se mistura um pouco de troça pela futilidade de amar a humanidade), que, se não fosse o Percival que transforma tudo isto em vapor, seria capaz de me juntar
aos outros e achar, tal como eles o fazem, que esta festa é nossa, que finalmente estamos todos juntos. Todavia, sem o Percival as coisas carecem de solidez. Somos
silhuetas, fantasmas ocos a pairar sem qualquer pano de fundo que nos sirva de suporte.
– A porta de vaivém não pára de se abrir – disse Rhoda.
Por ela vão entrando estranhos, indivíduos que nunca mais veremos, indivíduos que nos tocam de forma desagradável com a sua familiaridade e indiferença, bem
assim como com a ideia de que o mundo vai continuar mesmo sem a nossa presença. Somos incapazes de nos afundar, de esquecer os rostos que possuímos. Mesmo eu, que
nunca mudo de expressão (a Susan e a Jinny alteraram os rostos e os corpos quando entraram), sinto-me flutuar, sem possuir um porto onde ancorar, incompleta, incapaz
de construir uma câmara de vácuo, um muro, onde possa colocar estes corpos em movimento. Creio que tudo isto se deve ao Neville e à tristeza que dele emana.
Sinto-me abalada pela profunda desolação em que está mergulhado. Nada pode assentar. Nada pode ser fixado. De cada vez que a porta se abre ele olha fixamente
para a mesa, nem sequer se atreve a levantar os olhos, acaba por espreitar durante breves segundos, e diz: “Ele não vem!”. Porém, ei-lo que chega.
– Agora – disse Neville –, a minha árvore floresce. O meu coração eleva-se. Acabaram-se as opressões e os impedimentos. O reino do caos chegou ao fim. Foi
ele quem impôs a ordem. As facas voltaram a cortar.
– Lá está o Percival – disse Jinny. – Não se vestiu para a ocasião.
– Lá está o Percival – disse Bernard –, a ajeitar o cabelo.
Não se trata de um gesto de vaidade (nem sequer olha para o espelho), mas sim de algo para agradar ao deus da decência. É um indivíduo convencional; é um herói.
Os rapazinhos mais novos marchavam atrás dele no campo de jogos. Mas, e apesar de assoarem o nariz do mesmo modo que ele, não tinham qualquer sucesso, pois só ele
é o Percival. Agora, que está prestes a nos deixar, a partir para a Índia, todas estas pequenas coisas se juntam numa só. Estamos em presença de um herói. Oh, sim,
ninguém o pode negar, e, quando se senta junto à Susan (a quem ama profundamente) a ocasião torna-se perfeita. Nós, que antes nos entretínhamos a lutar uns contra
os outros, assumimos agora o ar sóbrio e confiante de soldados na presença do capitão. Nós, a quem a juventude separou (o mais velho ainda não fez vinte e cinco
anos), que, semelhantes a aves sedentas, cantamos a plenos pulmões, e, com o egoísmo próprio dos jovens, batemos na nossa própria carapaça com tanta força que quase
a chegamos a partir (estou noivo), ou, empoleirados no parapeito de uma qualquer janela solitária entoamos cânticos de amor e fama, coisa tão querida às avezinhas
jovens de penugem amarela, acabamos por nos aproximar; e, em cima dos poleiros que ocupamos neste restaurante onde cada um tem os seus interesses e somos distraídos
pelo desfile incessante dos copos e tentados por toda a espécie de coisas de cada vez que a porta se abre, é aqui sentados que sentimos o quanto nos amamos, acreditando
também que somos consistentes e possuímos capacidade para resistir ao tempo.
– Resta-nos agora sair da obscuridade da solidão – disse Louis.
– Resta-nos agora dizer, de forma directa e brutal, o que nos vai na alma – disse Neville. – Longe está o período de isolamento e preparação; os dias furtivos
da clandestinidade e dos segredos, das revelações inesperadas, dos momentos de terror e êxtase.
– A velha Mrs. Constable levantava a esponja e sentíamos o calor escorrer-nos pela pele – disse Bernard. – Sentíamo-nos envolvidos por estas novas roupas feitas
de carne.
– O rapaz das botas fez amor com a criada, no jardim – disse Susan –, por entre os alguidares de roupa lavada.
– O modo como o vento respirava lembrava o arfar de um tigre – disse Rhoda.
– Havia um homem na valeta, lívido, com o pescoço cortado – disse Neville. – E, sempre que subia os degraus, não conseguia olhar para a madeira com as suas
folhas prateadas.
– Sem que houvesse ninguém para a soprar, a folha não parava de se agitar – disse Jinny.
– No canto iluminado pelo sol – disse Louis –, as pétalas nadavam em profundezas de verde.
– Em Elvedon, os jardineiros não paravam de varrer, servindo-se para isso das suas enormes vassouras, e a mulher sentada à mesa não parava de escrever – disse
Bernard.
– Agora, sempre que nos encontramos – disse Louis –, pegamos no novelo em que o passado se transformou e tentamos desenrolá-lo.
– Foi então – disse Bernard –, que o táxi surgiu frente à porta, e, enterrando com força os bonés para assim escondermos aquelas lágrimas muito pouco viris,
acabamos por ser conduzidos por ruas onde até mesmo as criadas nos olhavam, e os nossos nomes escritos a branco nas malas proclamavam a todo o mundo que íamos para
a escola, transportando connosco o número permitido de meias e cuecas, onde as nossas mães haviam bordado as nossas iniciais. Tratou-se de uma segunda separação
do corpo da mãe.
– E havia também a Miss Lambert, já para não falarmos da Miss Cutting e da Miss Bard – disse Jinny. – Tratava-se de senhoras imponentes, de golas brancas;
pálidas, enigmáticas, com anéis de ametista colocados em dedos muito esguios, os quais percorriam as páginas dos livros de francês, geografia e aritmética; e haviam
ainda os mapas, os quadros de baeta verde, e as filas de sapatos na prateleira.
– As campainhas tocavam sempre a horas – disse Susan. – As raparigas não paravam de rir e de se acotovelar. As cadeiras produziam um barulho estranho quando
as arrastavam no chão forrado a oleado. Contudo, num dos sótãos podia ver-se um ponto azul e distante correspondente a um campo não contaminado pela corrupção daquela
existência irreal, regulamentada.
– Os véus não paravam de cair por sobre as nossas cabeças – disse Rhoda. – Pegávamos nas flores e com elas construíamos grinaldas.
– Mudamos, tornámo-nos irreconhecíveis – disse Louis. – Expostos a todas estas luzes diferentes, aquilo que possuíamos dentro de nós (pois somos todos diferentes)
veio aos poucos à superfície, em golfadas violentas, separadas por abismos vazios, tal como se um qualquer ácido tivesse caído de forma desigual numa determinada
superfície. Eu fui isto, o Neville aquilo, o mesmo se passando com o Bernard e a Rhoda.
– Foi então que as canoas passaram através dos ramos levemente tingidos de amarelo – disse Neville –, e o Bernard, avançando de forma descontraída por entre
os tufos verdes, contra casas de alicerces antiquíssimos, acabou por se deixar cair junto a mim. Num acesso de emoção, os ventos e os relâmpagos não podem ser mais
rápidos, peguei no meu poema, atirei-lho, e fechei a porta atrás de mim.
– No entanto, e pela parte que me tocava – disse Louis –, deixando-vos partir, sentei-me no escritório, e, arrancando as páginas ao calendário, anunciei a
todos os que ali iam que sexta, dia dez, ou terça-feira, dezoito, haviam amanhecido na cidade de Londres.
– Então – disse Jinny –, eu e a Rhoda, vestidas com os nossos vestidos mais bonitos e com algumas pedras preciosas a ornamentar os colares gelados que trazíamos
ao pescoço, fizemos vénias, apertámos as mãos, e, sem nunca deixar de sorrir, tirámos uma ou outra sanduíche de uma enorme travessa.
– Do outro lado do mundo – disse Rhoda –, o tigre saltou e a andorinha mergulhou as asas nos lagos escuros.
– Mas agora estamos de novo juntos – disse Bernard. – Acabamos por nos juntar, nesta determinada altura, neste preciso local. O que nos faz aqui estar é uma
emoção profunda e por todos partilhada. Será conveniente chamarmos-lhe amor? Deveremos dizer que sentimos amor pelo Percival, já que ele vai para a Índia?
Não, trata-se de um nome demasiado pequeno e específico. Não devemos deixar que os nossos sentimentos fiquem confinados a limites tão estreitos. Estamos todos
juntos (uns vindos do Norte, outros do Sul, a Susan da sua quinta, o Louis do escritório onde trabalha) para realizarmos algo que, muito embora não seja duradouro
– e, afinal, que é que o é? –, é visto ao mesmo tempo por muitos olhos. Há um cravo vermelho naquele vaso. Enquanto estávamos à espera, tratava-se de uma simples
flor. Agora, transformou-se em algo com sete possíveis ângulos de observação, muitas pétalas vermelhas, rubras, algo como folhas possuidoras de estrias prateadas
– uma flor completa à qual cada olho dá a sua contribuição.
– Depois dos fogos caprichosos e da horrível monotonia da juventude – disse Neville –, a luz acaba por cair em objectos reais. Somos facas e garfos. O mundo
está arrumado, o mesmo se passando connosco, e só por isso podemos falar.
– As nossas diferenças talvez sejam demasiado profundas para serem explicadas – disse Louis. – Mas talvez não seja má ideia tentá-lo. Alisei o cabelo quando
entrei, pois tentava tornar-me o mais parecido convosco quanto possível. Contudo, e dado não ser tão inteiro quanto vocês, trata-se de algo completamente impossível.
Já vivi milhares de vidas. Desenterro uma todos os dias – escavo-a. Descubro relíquias de mim mesmo na areia que foi pisada pelas mulheres há milhares de anos, quando
ouvia cânticos no Nilo e o animal encurralado batia as patas com força. Aquilo que têm à vossa frente, este homem, este Louis, é apenas o que resta de algo que já
foi magnífico. Já fui um príncipe árabe – reparem na graciosidade dos meus gestos. Já fui um grande poeta no tempo da rainha Isabel. Fui duque na corte de Luís XIV.
Sou muito vaidoso, muito confiante; sinto uma enorme vontade de fazer com que as mulheres suspirem por mim. Hoje, não almocei para que a Susan me considere cadavérico
e a Jinny me conceda a bênção extravagante da sua simpatia. Mas, muito embora admire a Susan e o Percival, odeio todos os outros, pois é para eles que faço disparates
como alisar o cabelo e tentar ocultar o sotaque.
Sou o macaquinho que faz muito barulho quando encontra uma noz; vocês são as mulheres desleixadas que transportam malas lustrosas carregadas de bolos bafientos;
para mais, sou também o tigre enjaulado, e vocês são os guardas munidos de ferros em brasa. Ou seja, sou mais feroz e forte que vocês, e, contudo, aquilo que emerge
à superfície depois de muitos séculos de não identidade será passado no maior dos horrores, não vão vocês rir-se de mim; esforçando-me por construir um anel de poemas
comparável ao aço, o qual levará as gaivotas às mulheres de dentes estragados, as torres das igrejas aos bonés que vejo passar durante a hora do almoço, quando encosto
o meu poeta preferido, será Lucrécio?, contra o galheteiro e o suporte da conta.
– Vocês nunca serão capazes de me odiar – disse Jinny. – Nunca serão capazes de me ver, mesmo que seja numa sala repleta de cadeiras douradas e embaixadores,
sem de imediato atravessarem o aposento em busca da minha simpatia. Ainda agora, e assim que cheguei, tudo ficou em silêncio. Os criados pararam, os comensais levantaram
os garfos e assim os mantiveram. Eu tinha ar de estar preparada para qualquer eventualidade. Quando me sentei, vocês ou levaram as mãos às gravatas ou as esconderam
debaixo da mesa. Porém, eu nada tenho a esconder. Estou preparada. Sempre que a porta se abre grito Mais!. Contudo, são os corpos a minha imaginação. Nada mais consigo
conceber para lá do círculo de luz provocado pelo meu próprio corpo. Este como que me precede, semelhante a uma lanterna descendo um carreiro escuro, fazendo com
que todas as coisas, umas a seguir às outras, penetrem numa espécie de anel de luz. Faço-vos entontecer; levo-vos a acreditar que isto é tudo.
– Quando apareceste à porta – disse Neville –, fizeste com que tudo parasse, exigiste ser admirada, e isso constituiu um grande impedimento à forma livre como
as coisas se devem relacionar. Apareceste à porta e obrigaste-nos a reparar em ti. Contudo, nenhum de vós me viu aproximar. Cheguei cedo; vim depressa e rapidamente
para aqui, para assim me poder sentar junto à pessoa que amo. A minha vida possui a enorme rapidez que falta às vossas. Sou como um cão de caça a seguir um determinado
odor. Caço desde o nascer ao pôr do Sol. Nada, nem a busca da perfeição, a fama ou o dinheiro, tem significado para mim. Possuirei grandes riquezas; serei famoso.
No entanto, dado não possuir a agilidade corporal e a coragem que, por norma, costumam acompanhar as qualidades acima mencionadas, nunca conseguirei o que quero.
O meu corpo não tem estrutura para suportar a rapidez com que penso. Falho antes de alcançar o que procuro e deixo-me cair, transformado em qualquer coisa sem forma,
pegajosa, talvez mesmo revoltante. Sempre que passo por uma qualquer crise, inspiro piedade, e não amor. É por isso que sofro de forma horrível. Mesmo assim, e ao
contrário do Louis, não transformo o que sinto num espectáculo. Sou demasiado realista para me dar ao luxo de participar numa farsa deste tipo. Vejo tudo, excepto
uma coisa, com a maior das clarezas. É por isso que me salvo. É isso que transforma o meu sofrimento em qualquer coisa de excitante e incessante. É isso que me orienta,
mesmo quando nada digo. E, dado que, pelo menos até um certo ponto, não tenho contornos definidos (a pessoa que sou muda constantemente, se bem que o mesmo não se
passe no plano dos desejos), nunca começo o dia a saber de antemão com quem vou jantar. É isso que faz com que nunca estagne; que me erga mesmo depois dos piores
desastres. Volto-me; mudo. Os seixos ressaltam ao embater na couraça que me reveste os músculos, o corpo. E assim acabarei por envelhecer.
– Se ao menos conseguisse acreditar – disse Rhoda –, que serei capaz de envelhecer em busca de algo e em constante metamorfose, então libertar-me-ia do medo
que sinto: nada existe para sempre. Um determinado momento não conduz forçosamente a outro. A porta abre-se e o tigre salta. Vocês não me viram entrar. Fiz questão
de passar por entre as cadeiras para evitar o horror do salto. Tenho medo de todos vocês.
Tenho medo do choque provocado pelas sensações que sobre mim se abatem, pois não posso lidar com elas do mesmo modo que vocês – sou incapaz de fazer com que
um momento se funda noutro. Para mim, são todos violentos, separados; e, se me deixar derrubar pelo choque do salto efectuado pelo momento, vocês cair-me-ão em cima,
acabando por me despedaçar. Não tenho qualquer objectivo em vista. Não sei correr de minuto a minuto, de hora a hora, misturando-os através de uma qualquer força
natural até constituírem aquela massa indivisível a que vocês chamam vida. Dado terem um objectivo em vista, será sentarem-se junto a alguém, será uma ideia, será
uma beleza? (não sei), os vossos dias e as vossas horas passam com a doçura dos ramos das árvores que se vão baloiçando ao vento, e com a suavidade do verde das
florestas, por onde os cães de caça vão perseguindo um determinado odor. Contudo e no que me diz respeito, não há um único cheiro, um único ser a quem possa seguir.
Para mais, não possuo rosto. Sou como a espuma que passa a rasar pela areia, ou como um raio de luar, que ora cai nesta lata vazia ora neste fio de alga, ou ainda
num osso ou numa embarcação semicarcomida. Sou transportada para o interior das grutas e comprimida contra as paredes dos corredores como se fosse papel, e tenho
de pressionar a mão, libertar a parede com toda a força, pois só assim me puxarei de volta. Mas, e dado que aquilo que mais quero é encontrar um refúgio, finjo ter
um objectivo em vista, e lá vou subindo as escadas, atrás da Jinny e da Susan. Vejo-as puxar as meias e faço o mesmo às minhas. Deixo-vos falar primeiro e depois
imito-vos. Vim até aqui, a este preciso lugar, não para te ver, a ti, a ti, ou a ti, mas para atear a chama que em mim existe na fogueira de todos os que vivem como
um todo, de forma indivisível, sem uma preocupação.
– Esta noite, quando aqui cheguei – disse Susan –, parei e examinei tudo com os olhos colados ao chão, como se fosse um animal. O cheiro das carpetes, da mobília
e dos perfumes enjoa-me. Gosto de passear sozinha pelos campos úmidos, ou de parar junto ao portão e ver o meu setter farejar em círculo como que a perguntar: “Onde
é que está a lebre?”. Gosto de estar junto de quem anda sempre com uma erva nas mãos, cospe para o lume, e, de chinelos, tal como o meu pai, se vai arrastando ao
longo dos caminhos. As únicas coisas que compreendo são gritos de amor, ódio, raiva e dor. Toda esta conversa é como despir uma velha cujo vestido parecia fazer
parte dela, mas agora, à medida que falamos, a criatura vai revelando uma pele avermelhada, as ancas encarquilhadas, e os peitos descaídos. Voltam a ser belos assim
que se calam. Nunca possuirei outra coisa para além de felicidade natural. Bastará isso para me contentar. Irei cansada para a cama. Serei como um campo cujas colheitas
vão aumentando; no Verão, o sol aquecer-me-a; no Inverno, a geada fará com que fique queimada. Contudo, o frio e o calor seguir-se-ão de forma natural, sem que eu
tenha qualquer coisa a ver com o facto. Os filhos dar-me-ão continuidade; as suas dores de dentes, os seus choros, as suas idas e vindas da escola serão como as
ondas do mar que se estende a meus pés. O seu movimento perpetuar-se-á para todo o sempre. As estações do ano farão com que me eleve mais de qualquer um de vós.
Quando morrer, possuirei muito mais do que a Jinny ou a Rhoda. Por outro lado, onde vocês são múltiplos e se unem às ideias e às gargalhadas dos outros, serei solene,
sombria, sem apresentar diferenças de coloração. A paixão da maternidade, bela e animal, acabará por me desgastar. Farei tudo, até mesmo as maiores baixezas, para
melhor orientar a sorte dos meus filhos. Odiarei todos os que descobrirem as suas falhas. Deixarei que construam um muro entre eu e vocês.
Para mais, a inveja já me começou a atormentar. Odeio a Jinny porque ela me faz ver que tenho as mãos vermelhas e as unhas roídas. Amo com tanta violência,
que me sinto morrer quando o objecto do meu amor revela através de uma simples frase que tem poderes para me escapar. Ele escapa-se e eu fico agarrada a um fio que
não pára de subir e descer por entre as folhas das copas das árvores. Não compreendo frases.
– Se ao nascer ainda não soubesse que a uma palavra se segue outra – disse Bernard –, talvez, quem sabe?, pudesse ter sido qualquer coisa. Dado que assim não
foi e encontro sequências por toda a parte, não suporto o peso da solidão.
Sempre que não vejo as palavras circularem à minha volta quais anéis de fumo, sinto-me na escuridão, nessas alturas, nada sou. Quando estou só, deixo-me cair
na letargia e digo para mim mesmo enquanto espevito as brasas, que a Mrs. Moffat acabará por chegar e varrer tudo. Quando o Louis está só, as coisas surgem-lhe perante
os olhos com uma intensidade incrível, o que lhe permite escrever palavras que talvez nos sobrevivam. A Rhoda ama a solidão. Receia-nos porque a fazemos perder a
noção de ser, que se manifesta com grande intensidade quando não está ninguém por perto, reparem como ela pega no garfo, a sua arma contra nós. No entanto, eu só
existo quando o canalizador, o comerciante de cavalos, ou seja lá quem for, diz qualquer coisa que me desperta para a vida. É então que o fumo que se eleva da minha
frase se torna maravilhoso, subindo e descendo, flutuando e envolvendo as lagostas vermelhas e os frutos amarelos, tornando-os maravilhosos. Todavia, reparem só
na falsidade desta frase, construída de evasivas e velhas mentiras. É por isso que o meu carácter é em grande parte constituído pelos estímulos que me são fornecidos
pelos outros, não me pertencendo do mesmo modo que a vossa personalidade vos pertence. Existe uma linha fatal, um qualquer veio de prata, irregular e sem rumo certo,
a enfraquecê-la. Era precisamente por isso que o Neville tanto se irritava comigo no tempo em que ainda andávamos na escola e eu o deixava. Lembro-me que costumava
acompanhar os rapazes gabarolas que usavam bonés e distintivos, e que se movimentavam em grandes bandos, estão aqui alguns esta noite, jantando juntos, impecavelmente
vestidos, à espera do momento mais indicado para seguirem para o salão de dança. Adorava-os. O certo é que eles me fazem viver, tanto quanto vocês o fazem. Também,
quando me separo de vós e o comboio parte, sei que sentem que não é este que se vai embora, mas sim eu, Bernard, que não me interesso, que não sinto, que não tenho
bilhete, que talvez o tenha perdido na mala. A Susan, os olhos presos no fio que aparece por entre as folhas das faias, grita: “Ele partiu! Escapou-me!”. Não existe
nada a que me possa agarrar. Estou continuamente a ser montado e desmontado. Pessoas diferentes fazem-me pronunciar palavras diferentes.
Assim, esta noite não queria estar sentado junto a apenas uma pessoa, mas sim a cinquenta. Todavia, sou o único de entre vós que se senta aqui como se estivesse
em casa, e isto sem se deixar cair na vulgaridade. Não sou nem grosseiro nem snob. Se ficar exposto à pressão da sociedade, o certo é que, com a habilidade com que
falo, são muitas as vezes em que consigo transpor conceitos difíceis para expressões quotidianas. Vejam como os meus brinquedos, construídos a partir do nada em
apenas alguns segundos, servem de entretenimento. Não sou ganancioso – quando morrer, de mim apenas restará um armário repleto de roupas velhas – e mostro-me praticamente
indiferente face às vaidades menores da vida, as quais tantas torturas causam ao Louis. Mesmo assim, tenho feito bastantes sacrifícios. Dado que em mim correm veios
de ferro, prata, e até mesmo de lama, sou incapaz de tomar as atitudes firmes comuns aos que não dependem de estímulos. Não consigo recusar seja o que for, de mostrar
o heroísmo do Louis e da Rhoda. Nunca serei capaz, mesmo a falar, de construir uma frase perfeita. Porém, a minha contribuição para o momento presente foi bem maior
que a vossa; entrarei em mais quartos (e em quartos muito diferentes entre si) do que qualquer um de vós. Mas, acabarei por ser esquecido devido a algo que vem de
fora e não de dentro; quando me calar serei lembrado como o eco de uma voz que costumava ornamentar a fruta com frases.
– Olhem – disse Rhoda. – Escutem. Reparem como a luz se vai tornando mais rica de segundo a segundo, e de como floresce e repousa em toda a parte; e os nossos
olhos, à medida que percorrem esta sala com todas as suas mesas, parecem afastar as cortinas de muitas cores, vermelhas, alaranjadas, e de outras tonalidades estranhas,
as quais dão a sensação de que não param de se cruzar, fazendo com que as coisas se vão fundindo umas nas outras.
– Sim – disse Jinny -, os nossos sentidos alargam-se.
Membranas, teias de nervos, tudo se espalhou, flutuando à nossa volta como se fossem filamentos, fazendo com que o ar quase possa ser tocado, o que nos torna
possível escutar toda uma série de sons distantes que antes eram impossíveis de ouvir.
– Estamos cercados pelo tumulto de Londres – disse Louis. – Automóveis, carrinhas, autocarros, passam e continuam a passar sem nos dar descanso. Tudo se resume
a uma enorme roda composta por um só som. Todos os sons separados, rodas, campainhas, os gritos dos bêbedos, dos folgazões, se misturam numa melodia circular, azul
metalizada. É então que se ouve uma sirene. A costa vai desaparecendo, as chaminés ficando mais pequenas; o barco abre caminho rumo ao mar alto.
– O Percival vai-se embora – disse Neville. – Nós continuamos aqui sentados, formando um círculo, iluminados, coloridos; todas as coisas, mãos, cortinas, facas
e garfos, os outros indivíduos que aqui jantam, se precipitam umas contra as outras, confundindo-se. Aqui, estamos emparedados. Contudo, a Índia fica lá fora.
– Estou a ver a Índia – disse Bernard. – Vejo uma praia enorme, sem dunas; vejo os caminhos tortuosos e enlameados que cercam os pagodes semi-arruinados; vejo
os edifícios dourados e com ameias, os quais apresentam um tal ar de fragilidade e decadência, que dão a sensação de que foram construídos apenas para fazerem parte
de uma qualquer exposição dedicada ao Oriente. Vejo dois bois a puxar uma carroça ao longo de uma estrada torrada pelo sol. A carroça não pára de baloiçar perigosamente
de um lado para o outro. Uma roda acaba por ficar presa na berma, e de pronto são muitos os nativos que, envergando apenas um pano em torno das ancas, a rodeiam,
falando com toda a excitação.
Contudo, nada fazem. O tempo parece não ter fim, a ambição parece ser inútil. Por sobre todos paira o sentimento de que o esforço humano de nada vale. Está-se
no reino dos odores azedos. Um homem de idade, sentado na valeta, continua a mascar bétel e a contemplar o umbigo. Mas, esperem, é o Percival quem se aproxima; vem
montado numa égua cheia de mordidelas de pulgas, e usa um capacete destinado a protegê-lo do sol. Através da aplicação dos métodos ocidentais, servindo-se da linguagem
violenta que lhe é natural, o carro de bois fica direito em menos de cinco minutos. O problema oriental foi resolvido. Ele prossegue o seu caminho; a multidão rodeia,
olhando-o como se estivesse na presença de um deus – coisa que ele de facto é.
– Desconhecido, com ou sem segredos, nada disso importa – disse Rhoda. – O certo é que ele é como uma pedra que se afunda num lago habitado por pequenos peixes.
Tal como estes, também nós, que antes tínhamos andado a deambular de um lado para o outro, nos aproximamos rapidamente quando o vemos chegar. Tal como os pequenos
peixes, conscientes da presença de uma enorme pedra, vamos nadando e ondulando com toda a alegria. Somos invadidos por uma sensação de conforto. Corre-nos ouro no
sangue. Um, dois; um, dois; o coração vai batendo com serenidade, com confiança, num qualquer transe de bem-estar, num qualquer êxtase de benevolência; e, reparem,
as partes mais distantes da terra, as sombras mais pálidas do horizonte, por exemplo, a Índia, elevam-se frente aos nossos olhos. O mundo, até agora uma superfície
enrugada, torna-se liso; as províncias mais remotas são trazidas à luz do dia; vemos estradas enlameadas, selvas confusas, enxames de homens, não esquecendo o abutre
que se alimenta da carne existente num qualquer corpo em putrefacção; tudo isto surge perante os nossos olhos; tudo isto pertence a uma qualquer província esplêndida
e orgulhosa, pois o Percival, montado numa égua mordida pelas pulgas, vai avançando por um carreiro solitário, rodeado de árvores desoladas, até acabar por se sentar
sozinho, a olhar para as montanhas gigantescas.
– É o Percival – disse Louis –, que sentado em silêncio no meio das ervas, vendo a brisa soprar as nuvens para de novo as juntar, é o Percival, dizia, quem
nos faz compreender o quanto são falsas estas tentativas de dizer sou isto, sou aquilo, as quais nos vão surgindo como se fossem pedaços separados de um corpo e
de uma alma. O medo fez-nos pôr qualquer coisa de parte. A vontade fez com que algo se alterasse. Tentamos acentuar as diferenças. O desejo de estarmos separados
fez com que sublinhássemos os nossos erros e tudo o que nos é próprio. Contudo, há uma corrente que nos cerca, um círculo azul-metalizado.
– Poderá ser ódio, poderá ser amor – disse Susan. – Trata-se de um curso de água violento e negro, que, e se olharmos bem para ele, nos faz ficar tontos. Estamos
numa espécie de parapeito, mas temos vertigens se baixarmos os olhos.
– Poderá ser amor – disse Jinny –, poderá ser ódio, mais ou menos como o que a Susan sente por mim por, certa vez, ter beijado o Louis no jardim, por, e devido
aos meus atributos físicos, a ter feito pensar quando entrei: Tenho as mãos vermelhas, acabando por as esconder. Todavia, o ódio que sentimos é quase impossível
de separar daquilo que chamamos amor.
– Mesmo assim – disse Neville –, estas águas tumultuosas sobre as quais construímos as nossas plataformas são mais estáveis que os gritos selvagens, fracos
e inconsequentes, que emitimos quando tentamos falar; quando argumentamos e pronunciamos frases tão falsas como estas: “Sou isto; sou aquilo!”. O discurso é falso.
Porém, continuo a comer. Aos poucos, vou perdendo consciência do que como. A comida começa a pesar-me. Estes deliciosos pedaços de pato assado, devidamente
acompanhados de vegetais, seguindo-se um atrás do outro numa estranha rotação de calor, de peso, de doce e de amargo, vão-me deslizando pela garganta até chegarem
ao estômago, onde acabam por estabilizar o meu corpo. Sinto-me calmo, grave, controlado. Tudo se tornou sólido. Como que por instinto, o meu paladar requer e antecipa
algo de doce e leve, algo de açucarado e evanescente. É então que bebo uma golada de vinho fresco, que parece cair que nem uma luva nas ramificações nervosas que
palpitam no céu da minha boca, fazendo-o deslizar (à medida que bebo) para uma caverna abobadada, verde, devido às folhas de videira que nela existem, vermelha devido
às uvas moscatel. Posso agora olhar a direito para o curso de água que corre a meus pés. Que nome lhe deveremos dar? O melhor é deixarmos falar a Rhoda, cujo rosto
vejo reflectido no espelho que se encontra no lado oposto; a Rhoda, a quem interrompi quando ela balançava pétalas numa taça castanha, perguntando-lhe se vira o
canivete que o Bernard roubara. Para ela, o amor não é um turbilhão. Não sente vertigens quando olha para baixo. Os seus olhos estão fixos muito para lá das nossas
cabeças, muito para lá da Índia.
– Sim, por entre os vossos ombros, por sobre as vossas cabeças, em direcção a uma paisagem – disse Rhoda –, para um local onde as muitas montanhas íngremes
parecem precipitar-se sobre nós como aves com as asas fechadas. Aí, por entre a erva curta e firme, podem ver-se arbustos de folhas escuras, e é recortando-se contra
este negrume que vejo uma forma branca, mas não de pedra, e que se vai movendo. Talvez esteja viva. Contudo, não és nem tu, nem tu, nem sequer tu; não é o Percival,
a Susan, a Jinny, o Neville ou o Louis, Forma-se um triângulo quando o braço branco repoisa no joelho; agora está direito, é uma coluna; agora uma fonte, caindo.
Não faz qualquer sinal, não acena, nem mesmo nos chega a ver. O mar ruge atrás de si. Está para lá do nosso alcance. No entanto, é para lá que me aventuro. É para
lá que me dirijo tentando preencher o vazio que sinto, tentando conseguir aumentar a duração das minhas noites e enchê-las cada vez mais de sonhos. E, até mesmo
agora, até mesmo aqui, consigo atingir o objecto que procuro e dizer-lhe: “Não procures mais. Tudo o resto não passa de testes e suposições. Nada mais há para além
disto.” Porém, estas peregrinações, estes momentos de ausência, começam sempre junto a vós, nesta mesa, a partir destas luzes, do Percival e da Susan, do aqui e
do agora. Estou sempre a ver o meu bosque por sobre as vossas cabeças, por entre os vossos ombros, ou através de uma janela onde acabei por me encostar a olhar para
a rua depois de ter atravessado o salão, decorria na altura uma festa.
– Mas, e os chinelos dele? – disse Neville. – E a sua voz ecoando pelas escadas? E o facto de o vermos quando ele não repara em ninguém? Fica-se à espera dele
e ele não vem. Está-se a fazer cada vez mais tarde. Esqueceu-se. Está com outra pessoa. É infiel, o seu amor não tem qualquer significado. Oh, e depois há esta agonia,
este desespero intolerável! É então que a porta se abre. Cá está ele.
– Brilhando, brilhando cada vez mais e mais, ordenei-lhe que viesse – disse Jinny. – E ele vem; atravessa a sala até chegar ao ponto onde estou sentada, com
o vestido ondulando à minha volta como um véu em torno de uma cadeira dourada.
As nossas mãos tocam-se, os nossos corpos sofrem uma explosão de luz. A cadeira, a chávena, a mesa, nada fica por iluminar. Tudo estremece, tudo se incendeia,
tudo arde de forma mais clara.
– Repara, Rhoda – disse Louis – transformaram-se em seres nocturnos, extasiados. Os seus olhos assemelham-se às asas das borboletas nocturnas, que se movem
tão rapidamente que parecem nem se mover.
– Ouvem-se trompas e trombetas – disse Rhoda. – As folhas abrem-se, os veados vão balindo por entre o matagal.
Ouvem-se tambores e dá-se início a uma dança, qualquer coisa de semelhante às danças e aos tambores de homens nus empunhando lanças.
– Semelhante às danças dos selvagens – disse Louis –, quando estes as executam em redor da fogueira. São selvagens; são impiedosos. Dançam em círculo e empunham
bexigas, chamas trepam-lhes pelos rostos pintados, cobrem-lhes as peles de leopardo e os membros sangrentos que foram arrancados aos animais quando estes ainda eram
vivos.
– As chamas vão-se elevando nos ares – disse Rhoda. – A procissão vai avançando e os indivíduos que nela se integram agitam folhas verdes e ramos floridos.
Das suas cornetas eleva-se um fumo azulado; a luz dos archotes faz com que as suas peles adquiram tons avermelhados e amarelos. Lançam violetas. Coroam os seres
amados com grinaldas e folhas de louro, ali, no anel de turfa onde confluem as colinas íngremes. E, à medida que o faz, Louis, ambos estamos conscientes da decadência,
ambos vaticinamos a ruína. A sombra inclina-se. Nós, os conspiradores, recuamos com vista a nos encontrarmos a uma qualquer urna fria, e reparamos no modo como as
chamas rubras flutuam em direcção ao abismo.
– A morte ligou-se para sempre às violetas – disse Louis. – A morte e ainda outra vez a morte.
– Com que orgulho estamos aqui sentados – disse Jinny –, nós que ainda nem fizemos vinte e cinco anos! Lá fora, as árvores cobrem-se de flores; lá fora, as
mulheres deslizam; lá fora, os carros descrevem curvas e contra-curvas. Emergindo depois de uma série de tentativas, depois da obscuridade e do deslumbramento da
juventude, olhamos para o que se encontra à nossa frente, prontos para o que há-de vir (a porta abre-se, a porta não pára de se abrir). Tudo é real; tudo é firme,
sem sombras ou ilusões. Há beleza no desenho das nossas sobrancelhas, das minhas e das da Susan. A nossa carne é firme e fresca. As diferenças que entre nós existem
são tão óbvias como as sombras provocadas pela luz do Sol ao incidir numa rocha. Amarelas e bem definidas, pairam junto a nós; a toalha é branca; temos as mãos semifechadas,
prontas a se contrair. Espera-nos um nunca mais acabar de dias e dias; dias de Inverno e de Verão; ainda mal tomámos posse do tesouro que nos pertence. A fruta acabou
de inchar por baixo das folhas. A sala está iluminada por um halo dourado, e eu digo-lhe: Vem.
– Ele tem as orelhas vermelhas – disse Louis –, e o cheiro a carne forma como que uma rede úmida que paira sobre nós, enquanto os empregados de escritório
da cidade tomam as refeições ao balcão.
– Será por termos a eternidade pela frente – disse Neville –, que perguntamos o que devemos fazer? Deveremos descer Bond Street, a olhar para aqui e para ali,
acabando por comprar uma caneta de tinta-permanente só porque esta é verde, ou limitando-nos a perguntar o preço do anel com a pedra azul?
Ou deveremos antes ir para casa, ver os carvões tornarem-se rubros? Deveremos antes estender as mãos para os livros e ler esta ou aquela passagem? Deveremos
explodir em gargalhadas sem qualquer razão aparente? Deveremos deambular por prados floridos e fazer coroas de margaridas? Deveremos descobrir quando parte o próximo
comboio para as Hébridas e reservar um compartimento? Temos tudo isso pela frente.
– Vocês têm-no – disse Bernard –, mas ontem esbarrei contra uma coluna. Fiquei noivo.
– O aspecto destes pedacinhos de açúcar que estão junto aos nossos pratos – disse Susan –, é tão estranho! O mesmo se passa com as cascas manchadas das pêras
e os aros dos espelhos. Nunca antes vira nada disto. Está tudo pronto; está tudo decidido. O Bernard está noivo. Aconteceu algo irrevogável.
As águas reflectem agora um círculo; foi-nos imposta uma corrente. Nunca mais voltaremos a flutuar em liberdade.
– Por apenas um momento – disse Louis. – Antes de a cadeia se partir, antes do regresso da desordem, vê-nos fixos, vê-nos colocados, vê-nos dispostos em círculo.
Porém, este acabou agora mesmo de se quebrar. A corrente voltou a correr. Movendo-nos ainda mais depressa que antes. Agora, as paixões que antes descansavam
junto às algas escuras vêm à superfície, alarmando-nos com o barulho provocado pelo rebentar das suas ondas. Dor e ciúme, inveja e desejo, e também algo ainda mais
profundo, mais forte e mais subterrâneo que o amor. Fala a voz da acção. Escuta, Rhoda (pois, com as mãos na urna fria, somos como conspiradores). Escuta os sons
rápidos, casuais, excitantes, da voz da acção, dos perdigueiros farejando um carreiro. Falam agora sem sequer se darem ao trabalho de completar as frases. Utilizam
uma linguagem semelhante à dos amantes. São possuídos por uma qualquer fera imperiosa. Têm os nervos à flor da pele. Os seus corações cavalgam com violência. A Susan
vai amarrotando o lenço. Os olhos da Jinny dançam como que alimentados pelo fogo.
– Eles estão imunes ao toque dos dedos e à indiscrição dos olhares – disse Rhoda. – Reparem no à-vontade com que se viram e olham; nas suas poses de energia
e orgulho! Quanta vida brilha no olhar da Jinny; quando procura insectos por entre as raízes, a expressão dos olhos da Susan é inteira! Os seus cabelos são brilhantes.
Os seus olhos queimam, semelhantes aos dos animais que se embrenham entre as folhas farejando a presa. O círculo foi destruído. Somos atirados para um lado qualquer.
– Mas – disse Bernard –, este êxtase egotista não demora muito a terminar. O momento voraz da identidade não tarda a chegar ao fim, e o apetite que antes sentíamos
pela felicidade, por uma felicidade sem fim, é engolido com sofreguidão. A pedra afunda-se; o momento já passou. Em meu redor, estende-se uma vasta margem de indiferença.
Abrem-se agora mil olhares curiosos frente a mim. Qualquer um tem agora liberdade para matar o Bernard, que está noivo e vai casar, isto desde que deixe intacta
esta margem de território desconhecido, esta floresta de um mundo por desbravar. Por que razão, pergunto (murmurando discretamente), estarão aquelas mulheres ali
a jantar sozinhas? Quem serão? E o que as terá trazido nesta noite a este local? A avaliar pelo modo nervoso com que leva a mão à nuca de vez em quando, o jovem
que está sentado naquele canto vem do campo. Tem um ar suplicante, e está tão desejoso de responder de forma conveniente à amabilidade do amigo do pai (que lhe serve
de anfitrião), que mal consegue tirar prazer daquilo que às onze e meia da manhã seguinte lhe dará a maior das satisfações. Já é a terceira vez que vejo aquela senhora
empoar o nariz no decorrer de uma conversa absorvente, talvez que a respeito do amor, talvez que a respeito da infelicidade que se abateu sobre a sua melhor amiga.
É então que se lembra, “Ah, não me posso esquecer do nariz!”. Dito isto, pega na borla de pó-de-arroz e com ela dissolve todos os sentimentos mais calorosos do coração
humano. Contudo, continua por solucionar o problema do homem solitário e do seu olho de vidro, bem assim como o da mulher de idade que bebe champanhe sem que ninguém
a acompanhe. Quem e o quê serão estas pessoas desconhecidas?, pergunto. Poderia construir dúzias de histórias a respeito do que ambos disseram, posso ver dúzias
de imagens. No entanto, o que são as minhas histórias? Brinquedos com que me entretenho, bolas de sabão que sopro, um anel passando através de outro. Para mais,
às vezes começo a duvidar da sua existência. O que é a minha história? O que é a história da Rhoda? E a do Neville? É certo que existem factos, como por exemplo:
O jovem de fato cinzento, indivíduo bem-parecido e cuja reserva contrastava de forma estranha com a loucura dos outros, sacudiu as migalhas do colete, e, com um
gesto simultaneamente autoritário e benevolente, fez sinal ao criado, que de imediato se voltou, regressando instantes mais tarde com a conta dobrada de forma discreta
em cima de uma bandeja. Tudo isto é verdade; tudo isto constitui um facto, mas para além dele só existem conjecturas e escuridão.
– Mais uma vez – disse Louis –, agora que estamos prestes a nos separar (já pagámos a conta), o círculo que nos corre pelas veias volta a se formar, mesmo
depois de ter sido quebrado tantas vezes e de forma tão abrupta. Algo se conseguiu. Sim, quando nos levantamos, um pouco nervosos, rezamos uma espécie de oração
que transmite este sentimento comum, Não se mexam, não deixem que a porta de vaivém destrua aquilo que construímos e se concentra aqui, entre estas luzes, estas
cascas, estes montes de côdeas de pão e de gente a passar. Não se mexam, não se vão embora. Deixem-se ficar para sempre.
– Vamos mantê-lo assim por um momento – disse Jinny –, amor, ódio, seja qual for o nome por que o chamemos, a este globo cujas paredes só existem devido ao
Percival, à juventude e à beleza, e também a algo tão profundamente interiorizado em nós, que é provável que nunca se venha a conseguir um momento igual a este.
– Estão aqui representadas as florestas e os países distantes que existem do outro lado do mundo – disse Rhoda. – Mares e selvas; os uivos dos chacais e o
luar caindo num qualquer pico sobre o qual a águia paira.
– Estão aqui representadas a felicidade e a paz das coisas comuns – disse Neville. – Uma mesa, uma cadeira, um livro com uma faca de papel enfiada entre as
páginas. A pétala a cair da rosa e a luz brilhando à nossa volta, quer quando estamos em silêncio quer quando dizemos uma qualquer trivialidade.
– Estão aqui contidos os dias da semana – disse Susan. – Segunda, terça, quarta; os cavalos a subir os campos e o seu posterior regresso; as gralhas voando
para cima e para baixo, envolvendo os ulmeiros na sua rede, e isto quer em Abril quer em Novembro.
– Estão aqui contidos todos os momentos que hão-de vir – disse Bernard. – Trata-se da última gota, e também da mais brilhante, que deixamos cair no momento
maravilhoso criado em nós pelo Percival.
Que virá a seguir?, pergunto, sacudindo as migalhas do colete. O que me espera lá fora? Provámos, pelo simples facto de termos estado aqui sentados, a comer
e a falar, que podemos trazer algo de novo à arca dos tesouros. Não somos obrigados a vergar as costas e a apanhar todas as chicotadas que nos quiserem dar. Também
não somos carneiros, prontos a seguir um mestre. Somos criadores. Construímos algo que se juntará aos inúmeros feitos do passado. Também nós, à medida que pomos
os chapéus e abrimos a porta, saímos de encontro a um mundo que a nossa força pode subjugar, fazendo-nos pertencer àquela estrada iluminada e eterna, e não ao caos.
Agora, enquanto eles chamam o táxi, talvez não seja má ideia dares uma olhadela ao que vais perder, Percival. A estrada é dura e polida devido ao passar de
muitas rodas. O dossel amarelo da enorme energia que emanamos paira por sobre as nossas cabeças como um tecido a arder. Essa luz é provocada por toda a espécie de
teatros, salões de música e candeeiros acesos nas habitações.
– Nuvens pontiagudas – disse Rhoda –, viajamos por um céu escuro, semelhante a ossos de baleia polidos.
– É agora que começa a agonia; é agora que o terror me agarra com as suas garras – disse Neville. – É agora que o táxi chega; é agora que o Percival parte.
Que podemos nós fazer para o manter junto a nós? Como encurtar a distância que nos separa? Como atiçar este fogo de forma a fazê-lo arder para sempre? Como registrar
para todo o sempre que nós, os que aqui se encontram nesta rua iluminada, amámos o Percival? Ele já nos abandonou.
O Sol atingira o ponto mais alto. Deixara de se mostrar semi-oculto e semipressentido através de insinuações subtis e brilhos, tal como se fosse uma jovem
repousando num manto verde-marinho, a fronte enfeitada de jóias semelhantes a gotas de água, das quais, e vistas sob determinados ângulos, se elevam luzes opalinas
que faiscam no ar como se de flancos de golfinhos a saltar ou lâminas cortantes se tratasse. Era agora impossível negar o ardor intenso do sol. Os seus raios batiam
na areia dura, e as rochas transformavam-se em fornos rubros; nem os mais pequenos charcos lhes escapavam, o mesmo se passando com os peixes minúsculos que neles
se ocultavam por entre as algas. Nada do que fora deixado na areia lhes conseguia fugir. A roda enferrujada, o osso branco, ou até mesmo a bota sem atacadores, negra
como uma barra de ferro. Conferiam a todas as coisas a medida exacta de cor; os incontáveis brilhos característicos das dunas, o verde lustroso das ervas selvagens;
ou então deixavam-se cair na vastidão do deserto, aqui enrugado pelo vento, ali varrido para dentro de dólmens abandonados, acolá manchado pelo verde-escuro das
árvores típicas da selva. Iluminavam as cúpulas douradas das mesquitas, as frágeis casas cor-de-rosa e brancas características do Sul, e as mulheres de peitos grandes
e cabelos brancos que se ajoelhavam junto ao rio, batendo as roupas enrugadas contra as pedras. O olhar impávido do Sol abarcava os navios a vapor que vogavam devagar
pelas águas do mar, e, atravessando a cobertura construída pelos toldos amarelos, batia nos passageiros que dormitavam ou passeavam no convés, os quais se viam obrigados
a proteger os olhos com a mão, à medida que, dia após dia, comprimido nos seus flancos oleados, o navio os continuava a transportar de forma monótona através das
águas.
O sol batia nos cumes apinhados das encostas do sul, reflectindo-se nos leitos rochosos e profundos dos rios, sobretudo nos locais onde a água se apertara
contra os pilares esguios das pontes de tal forma que as lavadeiras ajoelhadas nas pedras escaldantes mal tinham espaço para umedecer as roupas e onde as mulas escanzeladas
abriam caminho por entre pedras cinzentas, transportando alforjes por sobre o dorso estreito. Ao meio-dia, o calor do sol tornava cinzentas as montanhas, tal como
se tivessem sido desnudadas e queimadas durante uma qualquer explosão, enquanto, mais a norte, nos países mais enevoados e chuvosos as colinas adquiriam a suavidade
de uma laje e uma luz própria, como se uma sentinela, oculta nas profundezas fosse caminhando pelas diversas câmaras transportando um lampião verde. O Sol atingia
os campos ingleses escoando-se através de átomos de ar cinzento-azulados, iluminando pântanos e charcos, uma gaivota branca pousada num mastro, o lento pairar das
sombras por sobre os bosques e os campos de milho novo e feno ondulante.
Incidia na parede do pomar, e os grãos de todos os tijolos pareciam iluminados por uma luz prateada, rubra, mas que, e ao mesmo tempo dava a sensação de ser
suave ao toque, como se o simples facto de ser tocada fizesse com que se derretesse em grãos de poeira. As groselhas apoiavam-se ao muro, provocando cascatas de
um vermelho lustroso; as ameixas rompiam por entre as folhas, e todas as tonalidades de erva se uniam numa torrente fluida de verde. A sombra das águas afundava-se
num ponto escuro junto às raízes. A luz que caía em cascatas dissolvia a vegetação separada, transformando-a numa única mancha verde.
As aves entoavam com fervor melodias destinadas apenas a um emissário, depois do que paravam. Emitindo toda a espécie de ruídos abafados, transportavam pequenas
palhas e raminhos, juntando-os nos escuros nós situados nos ramos mais altos das árvores. Douradas e purpúreas, empoleiravam-se nos ramos existentes no jardim, onde
cones de laburno e carmim albergavam manchas douradas e lilases, pois que agora, ao meio-dia o jardim não podia estar mais florido, e até os túneis por baixo das
plantas apresentavam tons de verde, vermelho e amarelo-torrado, consoante o sol se escoava através de pétalas encarnadas e amarelas, ou tivesse dificuldade em atravessar
um qualquer caule mais grosso.
O sol incidia directamente na casa, fazendo luzir as paredes brancas situadas entre as janelas escuras. As vidraças, unidas com os ramos verdes numa trama
quase que inseparável, construíam círculos de uma escuridão impenetrável. Triângulos de luz possuidores de contornos bem definidos poisavam nos parapeitos das janelas,
revelando o conteúdo das diversas salas: pratos enfeitados de anéis azuis, chávenas com pegas curvas, a forma de uma qualquer tigela de grandes dimensões, o padrão
axadrezado do tapete, e todos os recantos e paredes forrados com papeleiras e estantes. Para lá deste conglomerado situava-se uma zona de sombras, na qual talvez
se pudesse descobrir uma qualquer outra forma, ou nada mais existisse para além de abismos ainda mais profundos de escuridão.
As ondas quebravam-se, espalhando as águas com suavidade ao longo da praia. Uma a seguir à outra, enrolavam-se e caíam; devido à energia com que o faziam,
as gotas eram obrigadas a recuar. As ondas apresentavam uma coloração azul profunda excepto no que respeitava a um ponto luminoso em forma de diamante situado na
crista, que se encrespava de forma semelhante à que acompanha os movimentos dos músculos dos cavalos. As ondas quebravam; recuavam e voltavam a quebrar, emitindo
um som semelhante ao que é provocado pelo bater das patas de um animal de grande porte.
– Morreu – disse Neville. – Caiu. O cavalo tropeçou.
Foi cuspido. As velas do mundo giravam com violência e atingiram-me em cheio na cabeça. Tudo terminou. Apagaram-se as luzes do mundo. Aquela é a árvore através
da qual não passo.
Oh, se eu pudesse rasgar este telegrama – devolver a luz ao mundo – dizer que isto não aconteceu! Mas para quê bater com a cabeça nas paredes? Trata-se da
verdade. Trata-se de um facto. O cavalo tropeçou; ele caiu. As árvores brilhantes e a vedação branca estilhaçaram-se em mil pedaços. Toldou-se-lhe o olhar; sentiu
um tambor ressoar junto aos seus ouvidos. Só então se deu a explosão; o mundo desabou; faltou-lhe o ar. Morreu ao chegar ao solo.
Celeiros e dias estivais passados no campo, salas onde nos sentamos – tudo isso pertence agora a um mundo irreal que já não existe mais. Deixei de ter passado.
Os outros aproximaram-se a correr. Levaram-no para um qualquer pavilhão; tratava-se de homens com botas de montar e chapéus coloniais. Morreu entre desconhecidos.
Era com frequência que a solidão e o silêncio o rodeavam. E depois, ao voltar, eu dizia sempre “Olhem quem lá vem!”.
As mulheres andam como se na rua não existisse um abismo, nenhuma árvore de folhas rijas através da qual é impossível passar. Não há dúvida de que merecemos
ser soterrados. Somos terrivelmente abjectos, avançando de olhos fechados. Mas por que razão me deverei submeter? Para quê tentar erguer o pé e subir as escadas?
É aqui que me encontro; aqui, a segurar o telegrama. O passado (os dias estivais e as salas onde nos sentávamos) vão desaparecendo como se fossem papéis queimados
contendo olhos vermelhos.
Para quê marcar encontros e retomar velhas amizades? Para quê falar, comer, e combinar coisas com outras pessoas? Estarei sempre só a partir de agora. Ninguém
mais me conhecerá. Tenho três cartas. “Vou jogar quoits com um coronel, por isso fico por aqui.” É assim que ele termina a nossa amizade, abrindo caminho por entre
a multidão ao mesmo tempo que se despede com um aceno. Esta farsa não merece que a voltemos a celebrar em termos formais. Contudo, se alguém tivesse dito “Espera”,
talvez ele tivesse apertado melhor a correia – talvez vivesse por mais cinquenta anos e acabasse por arranjar lugar na corte, comandando tropas e denunciando tiranias
monstruosas, tudo para acabar por regressar para junto de nós.
Digo agora que existe um sorriso, uma evasiva. Existe algo que ri de forma escarninha nas nossas costas. Aquele rapaz quase que caía ao subir para o autocarro.
O Percival caiu; morreu; está enterrado; e eu vejo as pessoas passarem; agarrar-se com força aos varões dos autocarros, determinadas a salvar a vida.
Não levantarei o pé para subir a escada. Vou-me deixar ficar um pouco mais debaixo desta árvore insaciável, a sós com o homem do pescoço cortado, enquanto
no andar de baixo a cozinheira se ocupa do fogão. Não subirei a escada. Estamos condenados, todos nós. As mulheres vão passando a correr, carregadas com os sacos
das compras. As pessoas não param de correr. Porém, vocês não me vão destruir. Durante este instante, este breve instante, estamos juntos. Aperto-vos contra mim.
Vem, dor, alimenta-te em mim. Enterra as tuas presas na minha carne. Desfaz-me em pedaços. Soluço, soluço.
– Assim é a incompreensível combinação das coisas – disse Bernard –, assim é a complexidade das coisas. O certo é que, enquanto vou descendo as escadas, não
sei distinguir a dor da alegria. O meu filho nasceu; o Percival está morto. Vou-me apoiando aos pilares; estou rodeado por emoções fortes; todavia, como distinguir
a tristeza da alegria? Faço esta pergunta a mim mesmo e não encontro qualquer resposta. Sei apenas que preciso de silêncio, de estar só e de sair daqui, e de passar
uma hora a meditar sobre o que aconteceu ao meu mundo, que tipo de morte nele ocorreu.
É então este o mundo que o Percival nunca mais verá.
Deixa-me olhá-lo. O carniceiro entrega carne na porta ao lado; dois velhotes arrastam-se pela calçada; os pardais levantam voo.
Há ali uma máquina a funcionar; sinto o seu ritmo, e dado ele já não a ver, encaro-a como algo de que já não faço parte. (A estas horas, o seu corpo pálido
e amortalhado repousa numa qualquer sala.) Chegou agora a minha oportunidade de descobrir o que é de facto importante, e para tal devo ter muito cuidado e não dizer
mentiras. O que sentia a seu respeito resume-se a isto: ele ocupava o lugar central. Já não vou mais a esse ponto.
O lugar está vazio.
Oh, sim, posso garantir-vos, homens de chapéus de feltro e mulheres transportando cestos – perderam algo que vos seria de grande valor. Perderam um chefe que
não teriam relutância em seguir; e uma de vós perdeu a felicidade e os filhos.
Aquele que vos daria tudo isto está agora morto. Está em cima de uma maca, enrolado em ligaduras, num qualquer hospital indiano, isto enquanto os nativos,
sentados no chão, agitam aqueles leques – esqueci-me de como se chamam. Contudo, “isto é importante; Vocês não sabem de nada”, disse, ao mesmo tempo que as pombas
poisavam nos telhados e o meu filho nascia. Lembro-me bastante bem do ar de desapego que o caracterizava enquanto rapaz. E lá acabo por dizer (os meus olhos vão-se
enchendo de lágrimas que secam quase no mesmo instante) que: “Mas isto é melhor do que aquilo que se poderia esperar”. É isto que digo, dirigindo-me ao abstracto,
vendo-me cego no fundo da avenida, no céu: “Será que não podes fazer mais nada?”. Acabamos por triunfar. “Fizeste tudo o que podias”, digo, falando com aquele rosto
vazio, brutal e sem qualquer préstimo (pois ele só tinha vinte e cinco anos e devia ter vivido até aos oitenta). Não me vou deitar no chão e chorar toda uma vida.
(Temos aqui uma boa entrada para a minha agenda; desprezo por todos aqueles que impõem mortes sem sentido.) Para mais, e isto é importante, eu devia ter sido capaz
de o ter colocado em situações banais e ridículas, pois só assim evitaria encará-lo como algo absurdo, montado num enorme cavalo. Devia ter sido capaz de dizer:
“Percival mas que nome, tão ridículo!”. Contudo, deixem-me que vos diga, homens e mulheres que se precipitam para a estação de metropolitano, que teriam de o respeitar.
Teriam de se alinhar atrás dele e segui-lo. É tão estranho abrir caminho ao longo de multidões que vêem a vida através de olhos vazios, escaldantes.
Todavia, registra-se já a existência de sinais, chamamentos, tentativas de me fazer voltar atrás. A curiosidade só pode ser eliminada durante breves instantes.
Não se pode viver fora da máquina durante mais de meia hora. Reparo que os corpos começam a parecer-se vulgares. Porém, há qualquer coisa por trás deles que não
é a mesma – a perspectiva. Por detrás daquela banca de jornais encontra-se o hospital; uma sala enorme onde homens de pele escura puxam cordas; é então que o enterram.
Mesmo assim, e dado que num dos jornais se fala no divórcio de uma actriz famosa, sou incapaz de perguntar: “Quem?”. Todavia, não consigo puxar da carteira; não
consigo comprar o jornal, ainda não consigo ser interrompido.
Pergunto-me de que modo poderemos comunicar se nunca mais te verei, se nunca mais poderei fixar o olhar na solidez que te caracterizava. Foste avançado através
do pátio, enlaçando-nos na teia que nos ligava. De qualquer dos modos, existes em alguma parte. Restam ainda vestígios de ti. O papel de juiz. Ou seja, se descobrir
em mim uma nova veia, por certo a submeterei à tua apreciação. Perguntarei: “Qual o teu veredicto?”. Continuarás a ser o árbitro. Mas por quanto tempo? As coisas
tornar-se-ão demasiado difíceis para serem explicadas de forma adequada: existirão coisas novas; o meu filho é uma delas. Atingi o zênite da minha experiência. A
ele se seguirá o declínio. Deixei de exclamar “Que sorte!” de um modo convicto. Acabou-se a exaltação, o voo das pombas cruzando os céus. Assisto ao regresso do
caos. Já não me espanto com os nomes escritos por cima das montras das lojas. Deixei de sentir. “Para quê apressar-me? Para quê apanhar o comboio?” As coisas regressam
como em sequência; despoletam-se mutuamente – a ordem do costume.
Todavia, continuo a me ressentir da ordem do costume. Ainda me recuso a aceitar de ânimo leve a sequência dos factos. Andarei; não vou alterar o ritmo da minha
mente só porque paro e olho; continuarei a andar. Vou subir estes degraus, entrar na galeria e submeter-me à influência de uma série de mentes iguais à minha, tudo
fora da sequência. Tenho pouco tempo para responder à pergunta; o meu poder enfraquece; torno-me apático. Cá estão os quadros. Cá estão as frias madonas entre as
suas colunas. Elas que façam parar a actividade incessante desta espécie de olho mental, elas que façam parar as imagens da cabeça envolta em ligaduras e dos homens
com as cordas, pois só assim poderei encontrar qualquer coisa que não se veja. Cá estão os jardins; e Vênus por entre as flores; cá estão os santos e as madonas
de ar triste. Felizmente, trata-se de imagens que a nada aludem; não apontam; não nos chamam a atenção com cotoveladas. É assim que expandem a consciência que dele
tenho, devolvendo-mo de maneira diferente. Recordo o quanto era belo. “Reparem, lá vem ele”, dizia.
As linhas e as cores quase me convencem de que posso ser um herói, eu, que construo frases com tanta facilidade. De imediato, me sinto seduzido, pronto para
amar o que vem a seguir, incapaz de cerrar os punhos, vacilante, construindo frases de acordo com as circunstâncias. Agora, devido à dor que sinto, descubro o que
ele era: o meu oposto. Dado ser verdadeiro por natureza, não via qualquer interesse em exagerar, deixando-se levar por uma percepção natural do que era próprio.
De facto, tratava-se de um grande mestre da arte de viver, pois só assim se explicava a sensação de que viveu durante muito tempo, tendo também espalhado uma grande
calma à sua volta. Talvez que a isto se possa chamar “indiferença”. Contudo, temos de dizer que nele também existia uma grande dose de compaixão. Uma criança a brincar
– um entardecer estival, as portas irão continuar a se abrir e fechar, e através delas verei sinais que me farão chorar. Trata-se de coisas que não podem ser partilhadas.
Daí a solidão e o desamparo que nos caracterizam. Viro-me para esse ponto da mente e encontro-o vazio. Sinto-me oprimido pelos meus próprios defeitos. Já não o tenho
para dele contrastar.
Reparem naquela madona de olhos rasos de água. É este o meu serviço fúnebre. Não temos cerimônias, apenas cânticos privados e nada de conclusões, apenas sensações
violentas, todas separadas umas das outras. Nada do que foi dito nos serve. Estamos sentados na sala italiana da National Gallery, e outra coisa não fazemos senão
recolher fragmentos. Duvido que Ticiano tenha alguma vez sentido este ratinho a roer. Os pintores levam uma vida de absorção metódica, adicionando pinceladas. Não
são como os poetas – bodes expiatórios; não estão acorrentados a rochas. Daí o silêncio, a sensação do sublime. Mesmo assim, aquele vermelho deve ter-lhe queimado
a garganta. Sem dúvida que se elevou nos ares, segurando uma enorme cornucópia, e acabou por ser tragado por ela. Porém, o silêncio pesa-me – a solicitação permanente
da vista. Trata-se de uma pressão intermitente e abafada. Pouco distingo e vejo-o de forma vaga. Carreguei na campainha mas ela não toca nem dela saem quaisquer
sons. Há um qualquer esplendor que me excita; o vermelho forte contrastando com o verde; o curso dos pilares; a luz alaranjada espreitando por detrás das folhas
escuras das oliveiras. Sinto-me percorrido por vagas de sensação, mas estas são desordenadas.
Contudo, algo se veio juntar à minha interpretação. Há em mim qualquer coisa de profundamente oculto. Por instantes, cheguei mesmo a pensar tê-la descoberto.
Mas o melhor será enterrá-la, enterrá-la; deixá-la crescer oculta nas profundezas do espírito, para que um dia venha a dar frutos. Talvez que no fim da vida, num
momento de revelação, a venha a agarrar, mas agora a ideia escapa-se-me por entre as mãos. Por cada ideia que consigo agarrar, são mil as que me escapam. Quebram-se;
caem sobre mim. “As linhas e as cores sobrevivem”, por isso...
Bocejo. Estou cansado de sensações. Estou cansado devido à tensão e ao tempo – vinte e cinco minutos, meia hora – que passei a sós, fora da máquina. Sinto-me
entorpecido. Como estilhaçar esta apatia que em nada honra o meu coração compassivo? Existe mais gente a sofrer – são muitos os que o fazem. O Neville deve estar
a sofrer. Amava o Percival. Porém, já não consigo suportar extremos; quero alguém com quem possa rir, com quem possa bocejar, com quem possa recordar o modo como
ele coçava a cabeça, alguém de quem ele gostasse e com quem se sentisse à vontade (não pode ser a Susan, pois ele amava-a, mas antes a Jinny). Para mais, poderei
penitenciar-me no seu quarto. Poderei perguntar-lhe: “Ele contou-te que certo dia me recusei a acompanhá-lo a Hampton Court?”. São estes os pensamentos que me farão
acordar sobressaltado a meio da noite – os crimes pelos quais nos vemos obrigados a fazer penitência todos os dias; que certa vez me recusei a ir com ele a Hampton
Court.
Mas agora quero voltar a sentir-me rodeado pela vida, por livros e pequenos ornamentos, e também pelos sons habituais feitos pelos mercados a apregoar as suas
mercadorias. Depois desta revelação, quero repousar a cabeça e fechar os olhos.
Assim, vou descer as escadas, apanhar o primeiro táxi que encontrar, e seguir para casa da Jinny.
– Há ali uma poça – disse Rhoda –, e não a consigo atravessar. Escuto o ruído da mó, que me chega vindo de um ponto a escassos centímetros da minha cabeça.
O vento ruge quando me bate no rosto. Todas as formas palpáveis da vida me abandonaram. Serei sugada pelo corredor eterno se não conseguir agarrar nada de sólido.
Sendo assim, em que poderei tocar. Que tijolo, que pedra, me possibilitará regressar ao meu corpo em segurança?
A sombra caiu e a luz incide de forma oblíqua nas coisas. A figura que antes estava envolta em beleza, não passa agora de um objecto arruinado. A figura que
antes se encontrava no bosque onde as colunas se juntavam não passa agora de destroços. Foi isso que lhe disse quando todos afirmaram amar a sua voz, os sapatos
velhos que usava, e os momentos em que se juntavam.
Preparo-me para descer Oxford Street e enfrentar um mundo iluminado pelos relâmpagos; verei os ramos dos carvalhos, até então floridos, quebrarem-se e adquirirem
uma coloração avermelhada. Irei até Oxford Street comprar meias para ir a uma festa. Farei as coisas do costume iluminada pelo brilho dos relâmpagos. Colherei violetas,
farei com elas um ramo e entregá-las-ei ao Percival. Serão a prenda que lhe darei. Reparem agora no que ele me ofereceu. Reparem na rua agora, depois de o Percival
ter morrido. Os alicerces das casas são de tal maneira fracos, que estas podem ser arrastadas pela mais ligeira brisa. Semelhantes a mastins sangrentos, os automóveis
passam por nós a correr e a rugir. Estou só num mundo hostil.
O rosto humano é hediondo. As coisas estão como eu gosto. Quero que a violência e a publicidade deslizem pelas ruas como pedras durante uma avalancha. Gosto
das chaminés das fábricas, das gruas e dos camiões. Gosto deste desfilar incessante de rostos deformados, indiferentes. Estou farta da beleza; estou farta da privacidade.
Cavalgo as ondas e afundar-me-ei sem que haja alguém para me salvar.
Pelo simples facto de ter morrido, o Percival deixou-me este presente, revelou-me este terror, fez-me passar esta humilhação – rostos e mais rostos, sucedendo-se
como pratos de sopa servidos por moços de cozinha; rudes, gananciosos, vulgares; os olhos postos nas montras das lojas; cobiçando, varrendo e destruindo tudo. Até
mesmo o nosso amor se tornou impuro depois de ter sentido o contacto dos seus dedos sujos.
Cá está a loja onde se vendem meias. Chego mesmo a acreditar que a beleza está outra vez em movimento. Ouço-a sussurrar ao longo dos corredores, através das
rendas, respirando por entre os cestos de fitas coloridas. Afinal, sempre existem nichos protectores gravados no coração da tempestade; refúgios silenciosos onde
nos podemos esconder da verdade ocultando-nos sob as asas da beleza. A dor fica como que suspensa quando vejo uma rapariga abrir uma gaveta no maior dos silêncios.
É então que fala. O som desperta-me. A sua voz transporta-me ao fundo do mar. Lá, por entre as algas, vejo a inveja, o ciúme, o ódio e o desprezo rastejarem como
caranguejos por sobre a areia. São estes os nossos companheiros. Pagarei a conta, só então partindo com o embrulho que me pertence.
Estou em Oxford Street. Aqui se concentram o ódio, a inveja, e também a indiferença, precipitando-se depois contra a fachada daquilo a que chamamos vida. O
certo é que acabam por nos acompanhar. Pensemos nos amigos com quem nos sentamos para jantar. Vem-me à ideia o Louis, a ler a página desportiva de um qualquer jornal
da tarde, cheio de medo de cair no ridículo; um snob. Se lhe submetêssemos, acabaria por mandar em nós. A melhor forma que encontrou para mitigar a dor provocada
pela morte do Percival é olhar fixamente para o galheteiro, para lá dos prédios, até nada mais ver para além do céu. Enquanto isso, até nada mais ver para além do
céu.
Enquanto isso, e de olhos vermelhos, o Bernard afunda-se numa poltrona. Acabará por puxar do bloco-notas: escreverá o seguinte na letra M: “Frases para serem
usadas por ocasião da morte de amigos”. A Jinny, atravessando a sala a dançar, irá sentar-se no braço da poltrona em que o Bernard se encontra e perguntar-lhe-á:
“Ele amava-me? Mais do que à Susan?” Esta última, noiva de um agricultor da sua terra, olhará para o telegrama durante alguns segundos sem deixar de segurar o prato
que tem numa das mãos; depois, com o tornozelo, fechará a porta do forno. O Neville, depois de ter chorado durante algum tempo frente à janela, acabará por ver através
das lágrimas e perguntar: “Quem está a passar lá fora?”
– “Qual o rapaz mais belo que por aí anda?”
É esta a homenagem que presto ao Percival; um ramo de violetas escuras, murchas.
Assim sendo, para onde ir? Talvez que para algum museu onde existam anéis dentro de redomas de vidro, armários e vestidos usados por rainhas. Ou deverei antes
ir para Hampton Court e ficar a olhar para as paredes vermelhas, os pátios e toda aquela massa compacta de teixos que projectam na erva e nas flores as suas sombras
negras e em forma de pirâmide?
Será lá que recuperarei o sentido de beleza, impondo ordem na minha alma atormentada? Ao fim e ao cabo, que se pode fazer quando se está só? Limitar-me-ia
a permanecer na erva vazia e a dizer: “As gralhas voam; alguém passa transportando uma mala; o jardineiro empurra um carrinho de mão”. Ficaria numa fila, sujeita
a sentir o cheiro a suor dos outros e a apanhá-lo como que por contágio. Seria comprimida contra as pessoas como se fosse um rolo de carne comprimido contra outros
rolos de carne.
Vejo um salão onde se paga para entrar e onde se pode escutar música por entre grupos de gente sonolenta que até aqui se deslocou nesta tarde quente, depois
do almoço. Comemos carne e pudim em quantidade suficiente para sobreviver durante uma semana sem tocar nos alimentos. É por isso que nos juntamos aos magotes e nos
recostamos contra o fundo de qualquer coisa que nos transporte. Com todo o decoro e dignidade – por baixo dos chapéus, temos madeixas bem penteadas de cabelo branco;
sapatos elegantes; malinhas de mão, rostos bem escanhoados; aqui e ali vêem-se alguns bigodes militares. Não foi permitido o mais pequeno grão de poeira no nosso
pano de primeira qualidade. Sentamo-nos a abrir os programas e a cumprimentar os amigos. Parecemos morsas empoleiradas nas rochas. Somos como corpos demasiado pesados
para seguir rumo ao mar. Imploramos que uma onda nos levante, mas somos demasiado pesados e entre nós e o mar existe uma vasta extensão de terreno coberta de seixos.
Lá nos vamos deixando ficar, enfartados de tanta comida e entorpecidos pelo calor. É então que, inchada mas envergando num traje de cetim escorregadio, uma sereia
verde resolve vir em nosso socorro. Morde os lábios, assume um ar de intensidade, insufla-se e eleva-se nos ares quase que no mesmo instante, tal como se tivesse
visto uma maçã, e o som por ela emitido, “Ah!” fosse uma flecha.
Sei de uma árvore que foi cortada ao meio por um machado; a seiva ainda está quente; a casca é percorrida por muitos sonos. “Ah!”, gritou uma mulher ao amante,
inclinando-se da janela, em Veneza. “Ah, ah!”, gritou, apenas para o voltar a fazer: “Ah!”. Brindou-nos com um grito, e apenas com um grito. Porém, qual o significado
de um grito? É então que chegam os homens-escaravelhos com os seus violinos; esperam; contam; acenam; baixam os arcos. Ouvem-se então murmúrios e gargalhadas. Lembramo-nos
então da dança das oliveiras e da grande quantidade de línguas faladas pelas suas folhas cinzentas sempre que uma qualquer sereia aparece na praia, a mordiscar um
qualquer raminho.
Semelhanças, semelhanças e ainda mais semelhanças – mas, afinal, que será que se oculta por trás da aparência das coisas? Agora, depois de o raio ter fulminado
a árvore, de o ramo florido se ter abatido no chão, e de o Percival (pelo simples facto de estar morto) me ter legado tudo isto, talvez agora tenha chegado o momento
de analisar a questão. Ali está um quadrado; ali está um rectângulo. Os músicos pegam no quadrado e colocam-no no rectângulo. Fazem-no com bastante precisão; ficamos
com a ideia de que não podiam ter feito melhor. Pouco é deixado de fora. A estrutura torna-se visível; registra-se agora o começo; não somos nem tantos nem tão mesquinhos;
construímos triângulos e colocamo-los em cima de quadrados. É este o nosso triunfo; é este o nosso consolo.
A doçura própria desta alegria escorre pelas paredes da minha mente, libertando a compreensão. “Não vagueis mais”, digo, “chegaste ao fim”. O rectângulo foi
colocado por cima do quadrado; a espiral está no topo. Fomos transportados por sobre os seixos até atingirmos o mar. Os músicos estão de volta. Contudo, desta vez
estão a fazer carretas. Deixaram de se mostrar tão janotas e joviais como antes. Acabarei por partir.
Esta tarde, farei uma peregrinação. Irei a Greenwich. Sem revelar qualquer espécie de medo, entrarei em eléctricos e autocarros. À medida que descemos Regent
Street e vou sendo atirada ora contra esta mulher ora contra este homem, o facto não me irrita nem me ultraja. Há um quadrado em cima de um rectângulo. Cá estão
as ruas pobres, onde é costume regatear nos mercados; onde todo o tipo de ferro, lingueta e parafuso é posto de lado, e onde as pessoas se movem pelos campos como
que em enxames, beliscando carne crua com os dedos grossos. A estrutura é bem visível. Acabamos por a transformar num lugar para habitar.
São então estas as flores que crescem nos campos de erva dura onde as vacas pastam, batidas pelo vento, deformadas sem frutos nem botões. É isto que trago,
é isto que arranquei pelas raízes do passeio de Oxford Street, tu, o meu pequeno ramo de violetas baratas. Agora, sentada no eléctrico, vejo mastros por entre as
chaminés; lá está o rio; lá estão os navios que partem para a Índia. Caminharei junto ao rio. Percorrerei este aterro onde um velhote lê o jornal que se encontra
por detrás de um vidro. Percorrerei este terraço e verei os navios curvando-se ao sabor da maré. Há uma mulher no convés e um cão a ladrar em seu redor. A saia e
o cabelo dela são batidos pelo vento; vão a caminho do mar; abandonam-nos; com eles levam este entardecer estival. Resignar-me-ei; acabarei por me perder. Acabarei
por soltar o meu tão reprimido desejo de ser gasta, consumida. Galoparemos juntos por sobre colinas desertas onde as andorinhas mergulham as asas nos lagos e os
pilares se mantêm direitos. E é contra a onda que bate com força na praia, é contra a onda que enche de espuma branca os cantos mais recônditos do mundo, que atiro
as minhas violetas, a minha oferta ao Percival.
O Sol deixara de estar no meio do céu. A luz incidia na terra de forma oblíqua. Aqui, era a vez de um cantinho de nuvem se incendiar, de pronto se transformando
numa ilha incandescente onde nenhum pé seria capaz de poisar. Aos poucos, todas as nuvens se deixavam apanhar pela luz, o que fazia com que as ondas se iluminassem
com setas enfeitadas de penas, as quais caíam de forma desordenada no azul. O calor queimava as folhas mais altas das árvores, que murmuravam em surdina ao compasso
da brisa suave. As aves estariam imóveis se, de vez em quando, não virassem as cabeças de um lado para o outro. Já não cantavam. Era como se o sol do meio-dia as
tivesse sufocado, impedindo o som de sair. A borboleta poisou numa cana por alguns instantes, apenas para se voltar a lançar nos ares. O zumbido que se ouvia à distância
dava a sensação de ser provocado pelo bater de asas que ora se elevavam ora se baixavam no horizonte. A água do rio mantinha os contornos de tal forma fixos, que
era como se estes fossem redomas de vidro. Contudo, o vidro oscilou e as canas soltaram-se. Arquejando, de cabeça baixa, o gado caminhava pelos campos, movendo-se
a custo. Pararam de cair gotas de água no balde que se encontrava perto da casa, tal como se estivesse cheio. Foi então que caíram uma, duas, três gotas, devagar,
sem pressas.
As janelas revelavam de forma arbitrária pontos luminosos, por exemplo, a esquina de um ramo, ao que se seguia um qualquer espaço de claridade pura. A cortina
apresentava uma tonalidade avermelhada, e, dentro do quarto, lâminas de luz incidiam nas cadeiras e nas mesas, abrindo fendas naquelas superfícies lacadas e polidas.
A jarra verde adquiria dimensões monstruosas. A luz, empurrando a escuridão à sua frente, derramava-se em profusão por todos os cantos e saliências, ao mesmo tempo
que, e de forma algo paradoxal, amontoava as trevas de forma anárquica.
As ondas formavam-se, curvavam-se e batiam com força na areia, fazendo voar pedras e seixos. Traziam as rochas e a espuma, elevando-se nos ares, espalhavam-se
pelas paredes de uma rocha que antes estivera seca, ao passo que, em terra, deixavam atrás de si um rasto composto por pequenas poças onde alguns peixes perdidos
abanavam as barbatanas sempre que uma nova onda se aproximava.
– Já assinei o meu nome por mais de vinte vezes – disse Louis. – Eu, de novo eu, e outra vez eu. Claro, firme e inequivocamente, lá está ele, o meu nome. Também
eu tenho contornos definidos e sou inequívoco. Todavia, guardo em mim um vasto legado constituído por todo o tipo de experiências.
Sou como um verme que abriu caminho à dentada através da madeira de um velho carvalho. Mesmo assim, esta manhã sou compacto, consegui reunir todos os pedacinhos.
O Sol brilha e o céu está limpo. Contudo, o meio-dia não é marcado nem por uma grande chuvada nem por uma qualquer claridade especial. Trata-se da hora em
que Miss Johnson me vem trazer a correspondência. Gravo o meu nome nestas páginas em branco. O sussurro das folhas, a água a escorrer pelas goteiras, abismos verdes
manchados de dálias ou zínias; eu, ora duque ora Platão, amigo de Sócrates; o vaguear de negros e asiáticos viajando para este, oeste, norte e sul; a procissão eterna:
as mulheres vão descendo o Strand transportando as suas carteiras, da mesma forma que antes carregavam as ânforas para o Nilo; todas as folhas dobradas em muitas
partes, as quais correspondem a toda a minha vida, condensam-se na assinatura que gravo no papel. Sou agora um adulto; enfrento o sol e a chuva de cabeça erguida.
Tenho de me deixar cair com a força de uma machadinha e cortar o carvalho com um único golpe, pois, se não o fizer, se me desviar e perder tempo a olhar de um lado
para o outro, cairei como se fosse um floco de neve derretendo-me.
Estou semi-apaixonado pela máquina de escrever e pelo telefone. Consegui fundir todas as vidas que já vivi através de letras, cabos e ordens emitidas de forma
delicada através do telefone, e que seguem para Paris, Berlim, Nova Iorque. Através da assiduidade e do poder de decisão que me caracterizam, consegui inserir estas
linhas no mapa que une as diferentes partes do mundo.
Adoro chegar ao escritório às dez em ponto; adoro o brilho avermelhado do mogno escuro; adoro a secretária e os seus contornos bem definidos, bem assim como
o modo como as gavetas deslizam em silêncio. Adoro o telefone com os lábios sempre prontos a receber os meus sussurros; o calendário de parede; a agenda. Há quem
chegue sempre à mesma hora: Mr. Prentice às quatro; Mr. Eyres às quatro e trinta.
Gosto que me peçam para ir ao gabinete de Mr. Burchard prestar-lhe contas dos nossos negócios na China. Espero vir a herdar um cadeirão e um tapete persa.
Pressiono o globo com os ombros; faço a escuridão girar à minha frente, levando o comboio às mais distantes partes do mundo, onde antes reinava o caos. Se assim
continuar, transformando o caos em ordem, acabarei por me encontrar nos mesmos locais onde já antes estiveram Chatham, Pitt, Burk, e Sir Robert Peel. É assim que
elimino certas nódoas e apago velhas ofensas: a mulher que me deu a bandeira que estava no cimo da árvore de Natal; a minha pronúncia; as pancadas e as outras torturas;
os fanfarrões; o meu pai, um banqueiro de Brisbane.
Li o meu poeta preferido à mesa do restaurante, e, sempre a mexer o café, escutei os que, nas outras mesas, faziam apostas, e vi as mulheres hesitar ao se
aproximarem do balcão. Afirmei que nada devia ser irrelevante, até mesmo um pedaço de papel castanho caído ao chão por acaso. Disse que as suas movimentações deviam
ter um fim em vista; que deviam ganhar duas libras semanais às ordens de um mestre ilustre; que, quando chega a noite, somos envolvidos por uma qualquer mão, um
qualquer manto. Quando tiver cicatrizado estas feridas e compreendido estas monstruosidades de modo a que não necessitem nem de pretextos nem de desculpas, que nos
obrigam a despender tantas energias, devolverei às ruas e aos restaurantes aquilo que perderam quando caíram nestes tempos difíceis e se quebraram contra estas praias
rochosas. Reunirei algumas palavras e forjarei à nossa volta um anel de aço.
Todavia, agora não tenho um momento a perder. Aqui, não existem intervalos, sombras formadas à custa de folhas tremulas, ou sala onde, na companhia de um amante,
nos possamos recolher do sol e gozar a brisa fresca da noite. Temos o peso do mundo aos ombros; é pelos nossos olhos que ele existe; se pestanejarmos ou olharmos
de esguelha ou nos virarmos para lembrar aquilo que Platão disse ou Napoleão conquistou, estamos a ser desonestos para com o mundo. É assim a vida. Mr. Prentice
às quatro; Mr. Eyres às quatro e trinta. Gosto de ouvir o elevador deslizar e ouvir o baque por ele provocado quando pára no meu piso, bem assim com os pés dos homens
responsáveis que percorrem os corredores. É assim, através da combinação das nossas forças, que enviamos navios repletos de lavatórios e ginásios para as partes
mais remotas do globo.
Temos aos ombros o peso do mundo. É assim a vida. Se continuar, herdarei uma cadeira e um tapete; uma quinta no Surrey cheia de estufas onde crescerão coníferas,
melões, ou arbustos de tal forma raros, que despertarei a inveja de todos os outros comerciantes.
Apesar de tudo, continuo a manter o meu sótão. É aí que abro o meu livrinho do costume; é aí que fico a ver a chuva brilhar nas teias, emitindo uma luz semelhante
à dos impermeáveis dos polícias; é aí que vejo os vidros partidos existentes nas casas dos pobres; uma qualquer prostituta mirando-se num espelho partido enquanto
retoca a maquilagem na esquina onde se encontra; é aí que a Rhoda às vezes aparece. É que eu e ela somos amantes.
O Percival morreu, (morreu no Egipto, morreu na Grécia, todas as mortes são apenas uma). A Susan tem filhos; o Neville sobe cada vez mais alto. A vida vai
seguindo o seu curso. As nuvens que pairam sobre as casas nunca são as mesmas. Faço isto, faço aquilo, apenas para voltar a fazer isto e depois aquilo. Unindo-nos
e separando-nos, assumimos formas diferentes, construímos diferentes padrões. No entanto, se não fixar estas impressões no placar, bem posso dizer adeus às muitas
personalidades que em mim se transformam numa só, existem aqui e agora, e não em manchas e listras, semelhantes a farrapos de neve nas montanhas distantes; pergunto
a Miss Johnson a sua opinião sobre este ou aquele filme, aceito a chávena de chá que me estava destinada e o biscoito de que mais gosto; se não fizer nada disto,
então serei como um floco de neve, acabando por derreter.
Porém, as seis horas acabam por chegar e saúdo o encarregado com uma espécie de continência, mostrando-me sempre demasiado efusivo, tal é o meu desejo de ser
aceite; e luto contra o vento, o casaco apertado até cima, os maxilares azuis devido ao frio e as lágrimas a correrem-me pelos olhos. Gostaria que uma qualquer dactilógrafa
se sentasse ao meu colo; acho que o meu prato favorito é bacon com fígado. Sinto-me em condições de ir vaguear para junto do rio, para aquelas ruas estreitas onde
os bares abundam e ao fundo se vêem as sombras dos navios e as mulheres a brigar. É aqui, digo, depois de ter recuperado a sanidade, que Mr. Prentice vem às quatro
e Mr. Eyres às quatro e trinta. O machado tem de acertar na madeira; o carvalho tem de ser atingido bem no centro. Sinto o peso do mundo nas costas. Aqui está a
caneta e o papel; coloco o nome nas folhas que se encontram no cesto de arame, eu, eu, e eu de novo.
– O Verão e o Inverno acabam sempre por chegar – disse Susan. – As estações vão passando. A pereira enche-se de frutos que acabam por cair. As folhas mortas
acumulam-se na valeta. Contudo, o vapor quase cobriu a janela. Estou sentada junto à lareira a ver a chaleira ferver. Vejo a pereira através dos sulcos existentes
no vapor que encheu a janela.
Dorme, dorme, cantarolo, quer seja Verão ou Inverno, Maio ou Novembro. Dorme, canto – eu, que não tenho ouvido para a música e as únicas melodias que ouço
são os sons rústicos dos cães a ladrar, das campainhas a tocar, e das rodas a ranger no cascalho. Canto a minha canção junto à lareira como se fosse uma concha velha
murmurando na praia. Dorme, dorme, digo, alertando com o tom da minha voz todos os que agitam as vasilhas do leite, disparam contra as gralhas, matam os coelhos,
ou, de uma forma ou de outra, trazem o choque da destruição até junto deste berço frágil, suportado por membros pouco fortes, coberto por uma cortina cor-de-rosa.
Perdi a indiferença, o olhar vazio, os olhos em forma de pêra que viam até às raízes. Deixei de ser Janeiro, Maio ou qualquer outra estação, estando como que
transformada numa teia muito fina que cobre o berço por completo, envolvendo os membros delicados do bebê com uma espécie de casulo constituído pelo meu próprio
sangue. Dorme, digo, e sinto nascer em mim uma violência sombria, arisca, capaz de me fazer derrubar com um só golpe qualquer intruso que entrasse nesta divisão
para acordar o que está a dormir.
Tal como a minha mãe, que morreu com um cancro, passo o dia a percorrer a casa com o avental posto e os chinelos calçados. Deixei de distinguir o Verão do
Inverno através das coisas tão simples como a erva que cobre a charneca ou a flor da urze. Sei-o apenas pelo vapor que se condensa na janela ou pelo gelo que a cobre.
Inclino-me quando ouço o canto da cotovia elevar-se nos ares; alimento o bebê. Eu, que costumava caminhar por entre as faias vendo as penas do gaio tornarem-se cada
vez mais azuis à medida que caíam, que me cruzava com os pastores e os vagabundos, que observava a mulher agachada junto a uma carroça caída na valeta, percorro
agora os quartos de espanador na mão. Dorme, digo, desejosa que o sono caia como um cobertor e cubra estes membros frágeis; exigindo à vida que recolha as garras
e prossiga viagem, transformando o corpo numa caverna, num abrigo aquecido onde o meu bebê possa dormir. Dorme, digo, dorme. Ou então, e como alternativa, vou até
à janela, observo com atenção o ninho das gralhas e a pereira. “Os olhos dele continuarão a ver mesmo depois de os meus se terem fechado”, penso. Misturar-me-ei
com eles para lá do corpo que possuo e verei a Índia. Ele regressará a casa carregado de troféus que colocará a meus pés. Os meus haveres aumentarão à sua custa.
Contudo, nunca me lembro de madrugada para ver as gotas púrpuras de orvalho repousando nas folhas das couves, as gotas vermelhas de orvalho das rosas. Não vejo o
cão a farejar em círculo, nem me deito à noite vendo as folhas ocultar as estrelas, e estas moverem-se e as folhas permanecerem imóveis. Ouço chamar o carniceiro;
o leite tem de ser colocado à sombra para que não azede.
Dorme, digo, dorme, enquanto a chaleira ferve e o vapor que dela se eleva se vai tornando mais espesso, subindo num jacto a partir do bico. É assim que a vida
me enche as veias. É assim que a vida me escorre pelos membros. É assim que vou avançando até quase poder gritar, enquanto, sempre a abrir e a fechar as coisas,
vejo o Sol nascer e pôr-se.
Chega. Estou prestes a sufocar de tanta felicidade natural. Contudo, sei que não vou ficar por aqui. Terei mais filhos; mais berços; mais cestos na cozinha
e presuntos a secar; cebolas a brilhar; e talhões de alfaces e batatas. Sinto-me vogar como uma folha ao sabor da tempestade; ora roçando a erva úmida ora sendo
arrastada pelos ares. Estou prestes a sufocar de felicidade natural, e por vezes desejava que este sentimento de realização esmorecesse, que o peso da casa adormecida
deixasse de existir (e que tanto se faz sentir quando nos sentamos a ler), e que eu voltasse a ser o centro da trama que a minha agulha vai tecendo. A lâmpada como
que acende uma fogueira na janela. Há um fogo a arder no coração da hera. Vejo uma rua iluminada nas sempre-verdes. Ouço o ruído do trânsito nos sons provocados
pelo vento; vozes; gargalhadas; e também a Jinny que abre a porta e grita: “Vem! Vem!”.
Contudo, som algum interrompe o silêncio da nossa casa, onde os campos suspiram junto à porta. O vento passa através dos ulmeiros; uma borboleta nocturna vai
bater de encontro à lâmpada; uma vaca muge; um qualquer som infiltra-se entre as vigas, e eu quase que enfio a cabeça através do buraco da agulha e murmuro: “Dorme”.
– Chegou a hora – disse Jinny. – Acabamos de nos conhecer e juntámo-nos. Vamos falar, vamos contar histórias? Quem é ele? Quem é ela? Sinto uma curiosidade
infinita e não sei o que vem a seguir. Se tu, a quem nunca vi antes, me dissesses: O comboio parte de Piccadilly às quatro, nem sequer perderia tempo a fazer a mala,
partindo o mais depressa possível.
É melhor sentarmo-nos aqui, por baixo das flores, no sofá que está junto ao quadro. Vamos decorar a nossa árvore de Natal com factos e mais factos. As pessoas
não demorariam muito tempo a partir; é melhor agarrá-las enquanto é tempo. Dizes tu que aquele homem ali, junto à papeleira, vive rodeado de jarras de porcelana.
Partir uma delas é deitar milhares de libras pela janela. Apaixonou-se por uma rapariga em Roma e ela deixou-o. É daí que vem a fixação pelas jarras, velharias encontradas
em antiquários ou desenterradas nas areias do deserto. E, dado que a beleza precisa ser diariamente estilhaçada para permanecer bela, a vida daquele homem é algo
de estático num mar de porcelana. Mesmo assim, não deixa de ser estranho, pois, e enquanto jovem, chegou a sentar-se no solo enlameado e a beber rum com os soldados.
Precisamos ser rápidos e somar os factos com destreza fixando-os com um simples torcer de dedos. Ele não pára de fazer vénias. Chega a fazê-las frente às azáleas.
Fá-lo mesmo frente a uma mulher bastante idosa, pois ela usa brincos de diamante, e, exibindo o estatuto social que ocupava através de uma carruagem puxada por um
pônei, vai dizendo quem merece ser ajudado, que árvore deverá ser cortada, e quem irá aparecer amanhã. (Devo dizer-te que durante todos estes anos, e já passei dos
trinta, vivi em equilíbrio precário, mais ou menos como uma cabra montesa que vai saltando de rocha em rocha. Não fico muito tempo no mesmo sítio; e, muito embora
não me ligue a ninguém em particular, basta levantar o braço para que venham ter comigo.) Aquele homem é juiz; o outro é milionário, e aquele, o que tem o olho de
vidro, matou a governanta quando tinha dez anos, espetando-lhe uma flecha no coração. Depois disso, atravessou desertos transportando mensagens, participou em várias
revoluções, e agora recolhe o material para escrever um livro sobre a família da mãe, há muito estabelecida em Norfolk. Aquele sujeito de queixo azul tem a mão direita
mirrada. Porquê? Não sabemos. Aquela mulher – segredas-me discretamente, a que tem os brincos de pérolas –, foi em tempos a chama que iluminou a vida de um dos nossos
estadistas. Agora, e desde que ele morreu, vê fantasmas, lê a sina, e adoptou um jovem de pele escura, a quem chama o Messias. Aquele homem com os bigodes caídos,
tal como os de um oficial de cavalaria, levou uma vida da maior devassidão (está tudo escrito num qualquer livro de memórias) até que certo dia encontrou um desconhecido
no comboio, que, e no decorrer da viagem entre Edimburgo e Carlisle, o converteu limitando-se-lhe a ler a Bíblia.
E é assim que, em apenas alguns segundos, ágeis, perspicazes, deciframos os hieróglifos escritos no rosto dos outros. Aqui, nesta sala, somos como conchas
atiradas com violência contra a praia.
A porta não pára de se abrir. A sala não pára de se encher com conhecimento, angústia, vários tipos de ambição, uma grande dose de indiferença, e também algum
desespero. Dizes que juntos poderíamos construir catedrais, estabelecer políticas, condenar homens à morte, e administrar os assuntos de várias repartições públicas.
O grau de experiência que partilhamos é bastante profundo. Possuímos filhos de ambos os sexos, os quais educamos, tratamos quando estão com varicela, e criamos para
que possam herdar as nossas casas. De uma maneira ou de outra, todos trabalhamos na construção desta sexta-feira, alguns indo aos tribunais, outros ao jardim infantil;
outros ainda marchando e agrupando-se quatro a quatro. Há milhões de mãos ocupadas a costurar, a erguer ripas carregadas de tijolos. A actividade não tem fim. Escusado
será dizer que tudo recomeça amanhã; amanhã construiremos o sábado. Há quem vá apanhar o comboio para a França; outros embarcarão para a Índia. Há os que nunca mais
voltarão a entrar nesta sala. Um de nós pode morrer esta noite. O outro talvez conceba uma criança. Estar-nos-á reservado qualquer tipo de construção, política,
empreendimento, quadro, poema, filho, fábrica. A vida vem; a vida vai; somos nós quem a faz. Assim o dizes.
Mas nós, que vivemos no corpo, vemos os contornos das coisas com os olhos da imaginação. Vejo rochas iluminadas pelo sol. Não posso pegar nestes factos e colocá-los
numa gruta, fundindo as diferentes tonalidades que os caracterizam, amarelos e azuis, por exemplo, até os transformar numa única substância. Não posso permanecer
sentada por mais tempo. Preciso de me levantar e partir. O comboio deve estar prestes a abandonar o Piccadilly. Deixo cair todos estes factos – diamantes, mãos enrugadas,
jarras de porcelana – como um qualquer macaco deixa cair coco das patas. Sou incapaz de te dizer se a vida é isto ou aquilo. Vou juntar-me a esta multidão heterogênea.
Vou ser empurrada; atirada para cima e para baixo, semelhante a um navio no mar alto.
O certo é que agora sou chamada pelo meu próprio corpo, um companheiro que não pára de enviar sinais: “Não”, escuro e desagradável, e o dourado “Vem”, os quais
se sucedem rapidamente. Alguém se mexe. Terei levantado o braço? Terei olhado. Terá o meu lenço amarelo com os morangos vermelhos esvoaçado e emitido sinais? Ele
destacou-me do muro.
Segue-me. Estou a ser perseguida através da floresta. Tudo é arrebatado, tudo é nocturno, e os papagaios, empoleirados entre os ramos, soltam os gritos que
os caracterizam. Não podia ter os sentidos mais alerta. Sinto o quanto é áspera a cortina que empurro; sinto o gradeamento de ferro frio e a sua pintura estalada
sempre que nele poiso a mão. Estamos ao ar livre. A noite como que se abre; a noite, povoada de borboletas nocturnas; a noite, ocultando amantes preparados para
as maiores aventuras. Sinto o cheiro das rosas; das violetas; vejo pequenas manchas vermelhas e azuis. O cascalho e a relva vão-se sucedendo por baixo dos meus pés.
As traseiras dos edifícios iluminados erguem-se nos ares não sem alguma culpa. Todo este excesso de luzes faz com que Londres se mostre pouco à vontade. Está na
hora de entoarmos o nosso cântico de amor – Vem, vem, vem. Agora, o sinal dourado que emito assemelha-se a uma borboleta. Canta, canta, canta, exclamo, qual rouxinol
cuja melodia lhe tenha ficado entalada na garganta estreita. Ouço o estalar dos ramos e o entrechocar das hastes tal como se todos os animais da floresta estivessem
a caçar, elevando-se nos ares e mergulhando por entre os espinhos. Um deles acabou de me picar. Houve um que se enterrou bem fundo em mim.
As flores aveludadas e as folhas frescas acalmam-me, como que me ungem.
– Para quê olhar o relógio que está em cima da lareira? – disse Neville. – Sim, o tempo passa. E nós envelhecemos. Contudo, sinto-me bem em estar sentado junto
a ti, eu aqui e tu aí, nesta sala iluminada pelo fogo, em Londres. O mundo foi revistado até ao mais ínfimo pormenor, e nele já nada resta, nem mesmo flores. Repara
na luz vermelha que percorre a cortina dourada. A fruta por ela rodeada cai pesadamente. Cai mesmo junto à tua bota, ao mesmo tempo que te empresta ao rosto uma
moldura vermelha – creio tratar-se da luz da lareira e não da tua cara; creio serem aqueles livros encostados contra a parede; aquilo uma cortina; e isso talvez
um cadeirão. Todavia, quando entras tudo muda. As chávenas e os pires transformaram-se quando aqui chegaste de manhã. Pondo de lado o jornal, pensei que só o amor
faz com que as nossas vidas mesquinhas tenham algum esplendor e valham a pena ser vividas.
Levantei-me. Terminara o pequeno-almoço. Tínhamos todo o dia pela frente, e, dado o tempo estar agradável, atravessamos o parque e fomos até ao cais, descemos
o Strand até chegarmos a St. Paul, e paramos na loja onde comprei o guarda-chuva. Nunca deixamos de conversar, parando de vez em quando para ver as montras. Contudo,
será que isto pode durar? Foi esta a pergunta que fiz quando avistei o leão de Trafalgar Square – foi aí que revi o passado, cena a cena; ali está um ulmeiro, e
é aí que o Percival se encontra. Jurei que para sempre. Foi então que me deixei invadir pelas dúvidas do costume. Apertei-te a mão. Deixaste-me. A descida até ao
metropolitano foi como experimentar a morte. Somos como que separados, dissolvidos, por todos aqueles rostos e também pelo vento oco que parece rugir naqueles corredores
desertos. Sentei-me a observar o meu próprio quarto. Às cinco fiquei a saber que eras infiel. Peguei no telefone e o zumbir estúpido da sua voz a ecoar no quarto
vazio fez com que o coração me caísse aos pés. Foi então que a porta se abriu e tu apareceste. Tratou-se do mais perfeito dos nossos encontros. Porém, estes encontros
e despedidas acabam por nos destruir., Tenho a impressão de que esta sala é central, qualquer coisa escavada na noite eterna. Lá fora, as linhas cruzam-se e intersectam-se,
mas sempre à nossa volta, envolvendo-nos. Estamos num ponto central. Aqui podemos estar em silêncio ou falar sem levantar a voz. “Já reparaste nisto e naquilo?”,
perguntamos. Quando ele disse isto, queria dizer... Ela hesitou, e acredito que tenha mesmo chegado a suspeitar. Seja como for, o certo é que, ontem à noite, nas
escadas, ouvi vozes e um soluço. Tratava-se do fim da relação por eles mantida. É assim que tecemos os mais delicados filamentos em nosso redor, construindo um sistema.
Platão e Shakespeare estão incluídos, o mesmo se passando com uma série de gente obscura, de pessoas sem qualquer importância. Odeio homens que usam crucifixos no
lado esquerdo do colete. Odeio cerimônias, lamentações, e a figura trêmula e triste de Cristo colocada junto a outras figuras tremulas e tristes. Odeio igualmente
a pompa, a indiferença e o ênfase, sempre colocado no local errado, de todas as pessoas que se pavoneiam à luz de candelabros envergando vestidos de noite, estrelas
e condecorações. Há ainda os que urinam contra as vedações ou contra o sol poente nas planícies iluminadas pela luz fraca do Inverno, já para não falarmos do modo
como algumas mulheres se sentam no autocarro, de mãos nas ancas, transportando cestos – são estas as pessoas que nos levam a fazer sinais aos amigos para que as
olhem. Constitui um enorme alívio ter alguém a quem fazer sinais e não pronunciar qualquer palavra. Seguir os carreiros escuros da mente e entrar no passado, visitar
livros, empurrar ramos e arrancar alguns frutos. Então, tu pegas neles e ficas em estado de êxtase. Enquanto isso, eu observo os movimentos descontraídos do teu
corpo e maravilho-me com o à-vontade que os caracteriza, a sua força – o modo como abres as janelas de par em par, e tens a mesma facilidade em mover ambas as mãos.
Mas, infelizmente, a minha mente anda um pouco preguiçosa, cansa-se com facilidade; deixo-me cair exausto; talvez que um pouco enjoado, sempre que alcanço o objectivo
a que me tinha proposto. Caramba! Não pude montar a cavalo na Índia, usar um chapéu colonial e regressar a um bangalô. Sou incapaz de pular, como tu fazes, como
o fazem todos aqueles rapazinhos seminus que, no convés dos navios, se molham mutuamente com as mangueiras. Quero esta lareira, quero esta cadeira. Quero alguém
que se sente a meu lado depois de toda a angústia e correria do dia-a-dia, das suas conversas, esperas e suspeitas. Depois das brigas e reconciliações, preciso de
privacidade – de estar a sós contigo, de fazer calar este tumulto. O certo é que os meus hábitos são tão organizados como os dos gatos. Temos de combater o desperdício
e as deformidades do mundo, as multidões que nele se agitam, ruidosas e apressadas. Temos de usar facas de cortar papel para abrir de forma correcta as páginas dos
livros, atar maços de cartas com fitas de seda verde, e varrer as cinzas com a vassoura da lareira.
Devemos fazer tudo o que nos permita exprobrar o horror da deformidade. O melhor será lermos os escritores que apregoam a austeridade e a severidade romanas;
o melhor será procurarmos a perfeição por entre as areias. Sim, mas o certo é que adoro deixar escapar a virtude e a austeridade dos nobres romanos sob a luz cinzenta
dos teus olhos, das ervas que dançam a compasso com as brisas estivais, e das gargalhadas e gritos dos rapazes que não param de brincar – daqueles rapazes nus que
se molham no convés dos navios, servindo-se para isso de mangueiras. É por isso que, ao contrário do Louis, não busco a perfeição de forma desinteressada. As páginas
apresentam sempre muitas cores; as nuvens passam por sobre elas. Quanto ao poema – é apenas o som da tua voz. Alcibíades, Ájax, Heitor e Percival, todos eles se
encarnam em ti. Adoravam montar, arriscavam a vida em Verão, e também não eram grandes leitores. Todavia, não és Ájax nem Percival. Eles não franziam o nariz nem
coçavam a testa com gestos tão precisos. Tu és tu. É isso que me consola da falta de muitas coisas – sou feio, sou fraco –, da depravação do mundo, do passar da
juventude, da morte do Percival, e de todo um sem-número de amarguras, rancores e invejas. Porém, se houver um dia em que não venhas logo após o pequeno-almoço,
se houver um dia em que, através do espelho, te vir à procura de outro, se o telefone não parar de tocar no teu apartamento vazio, então, depois de ter sentido uma
angústia indescritível, então – pois não há fim para a loucura existente nos corações humanos – procurarei outro; acabando por encontrar alguém parecido contigo.
Entretanto, o melhor será abolirmos o tiquetaque do relógio com um único gesto. Aproxima-te!
O Sol estava agora mais baixo. As ilhas compostas por nuvens haviam ganho em densidade e espalhavam-se frente ao Sol, fazendo com que as rochas escurecessem
subitamente, as algas tremulas perdessem o tom azul que lhes era característico e se tornassem em fios prateados, e as sombras fossem arrastadas pelo mar como farrapos
cinzentos. As ondas haviam deixado de alcançar as poças situadas mais acima, o mesmo se passando em relação à linha escura traçada na praia de forma irregular. A
areia apresentava uma coloração branca semelhante à das pérolas, e era macia e brilhante.
Lá bem no alto, as aves voavam em círculos. Algumas montavam as pregas do vento e nelas se moviam como se fossem um corpo cortado em mil pedaços. Semelhantes
a redes, os pássaros caíam das copas das árvores. Aqui, uma ave solitária dirigia-se para o pântano, acabando por se sentar numa estaca branca, depois do que abria
as asas apenas para as voltar a fechar.
Caíram algumas pétalas no jardim. Lembram conchas poisadas no solo. A folha morta já não se encontra na vedação, tendo antes sido arrastada, ora correndo ora
parando, contra uma qualquer haste. Todas as flores eram iluminadas pela mesma onda de luz e rapidez, semelhante a uma barbatana riscando o espelho verde de um lago.
De vez em quando, uma rajada agitava as folhas para cima e para baixo, até que, com o amainar do vento, estas acabavam por recuperar a sua identidade. As flores,
queimando os discos brilhantes ao sol, espalhavam luz por toda a parte sempre que o vento as agitava, depois do que algumas cabeças demasiado pesadas para se voltarem
a erguer pendiam um pouco.
O sol da tarde iluminava os campos, tingindo as nuvens de azul e os milheirais de vermelho. Os campos pareciam estar cobertos por uma grossa camada de verniz.
Carroças, cavalos, bandos de gralhas – fosse o que fosse que ali se movesse ficava envolvido em ouro. Quando as vacas mexiam as patas, era como se delas se desprendessem
fios de ouro-velho, dando a impressão de terem os cornos envoltos em luz. As vedações estavam cobertas por espigas de milho dourado, as quais haviam sido arrastadas
das carroças desengonçadas que subiam os campos com um ar primitivo, primordial. As nuvens de cabeça redonda nunca se desfaziam, mantendo antes todos os átomos que
as tornavam tão redondas. Agora, ao passarem apanhavam toda uma aldeia na rede por elas formada, depois do que a deixavam de novo em liberdade. Lá longe, por entre
os milhões de grãos de poeira azul acinzentada, via-se arder uma vidraça ou adivinhavam-se os contornos de um campanário ou de uma árvore.
As cortinas vermelhas e as persianas brancas esvoaçavam para dentro e para fora batendo contra o parapeito da janela, e a luz que se escoava e filtrava de
forma irregular possuía um qualquer pigmento castanho e um certo ar de abandono, como se fosse soprada em folgadas contra as cortinas. Neste ponto, fazia com que
uma papeleira se tornasse um pouco mais castanha, enquanto naquele fazia tremer a janela junto à qual se encontrava a jarra verde.
Durante alguns instantes, tudo estremeceu e se curvou devido à incerteza e à ambiguidade, como se uma grande borboleta nocturna que percorresse a sala tivesse
ocultado com as asas a enorme solidez das cadeiras e das mesas.
– E o tempo – disse Bernard – deixa cair a sua gota. A gota que se formou no topo da alma acaba por cair. No topo da minha mente, o tempo deixou cair a sua
gota. Esta caiu a semana passada, quando me estava a barbear. De súbito, com a lâmina na mão, apercebi-me da natureza puramente mecânica do acto que desempenhava
(era a gota a formar-se) e, não sem alguma ironia, dei os parabéns às minhas mãos por conseguirem levar as coisas até ao fim. Barbeia, barbeia, barbeia, disse. Continua
a barbear. A gota caiu. Durante o dia, a intervalos regulares, sentia que o espírito como que viajava até esse espaço vazio, perguntando: “O que se perdeu? O que
terminou?”. Ainda murmurei: “Acabado e bem acabado, acabado e bem acabado”, consolando-me com palavras. As pessoas repararam na expressão vazia do meu rosto e na
inutilidade da conversa. As últimas palavras da frase foram-se apagando. E, quando apertava o casaco e me preparava para ir para casa, disse de forma dramática:
“Perdi a juventude.”
É curioso que, quando ocorre uma crise, há uma frase que insiste em nos vir socorrer, mesmo nada tendo a ver com o caso – trata-se do castigo de viver numa
civilização antiga e munido de um bloco-notas. A gota que caiu nada tinha a ver com o facto de estar a perder a juventude. Esta gota mais não era que o tempo a atingir
um certo ponto. O tempo, que mais não é que um pasto soalheiro coberto por uma luz trêmula, o tempo, que se espalha pelos campos ao meio-dia, fica como que suspenso
num determinado ponto. Semelhante a uma gota que cai de um copo cheio, assim o tempo cai. São estes os verdadeiros ciclos, os verdadeiros acontecimentos. Então,
como se toda a luminosidade da atmosfera tivesse sido retirada, vejo-lhe o fundo vazio. Vejo aqui o que o hábito cobre.
Deixo-me ficar na cama durante dias a fio. Janto fora e não paro de bocejar. Nem sequer me dou ao trabalho de concluir as frases, e as acções que pratico,
por norma tão inconstantes adquirem uma precisão mecânica. Foi numa destas ocasiões que, ao passar por uma agência de viagens e nela tendo entrado, comprei um bilhete
para Roma com a compostura característica das figuras mecânicas.
Encontro-me agora sentado num dos bancos de pedra existentes num dos muitos jardins que rodeiam a cidade eterna, e o homenzinho que se barbeava em Londres
parece-se com um monte de roupas velhas. Até mesmo Londres se desmoronou. A cidade nada mais é que fábricas em ruínas e alguns gasômetros. Ao mesmo tempo, não me
sinto integrado neste ambiente. Vejo padres vestidos de violeta e pitorescas irmãs-de-caridade; reparo apenas no que é exterior. Estou aqui sentado como se fosse
um convalescente, como se fosse um qualquer idiota que só consegue articular palavras compostas por apenas uma sílaba. “O sol é bom”, digo. “O frio é mau.” Semelhante
a um insecto poisado no cimo da terra, sinto-me andar às voltas, e, aqui sentado, quase podia jurar ser capaz de identificar o movimento de rotação do planeta. Não
consigo seguir o caminho oposto ao da terra. Tenho o pressentimento de que se prolongasse esta sensação por mais algumas polegadas acabaria por ir parar a um qualquer
território estranho. Porém, não sou muito arrojado. Nunca quero prolongar estes estados de desprendimento; não gosto deles; desprezo-os. Não quero transformar-me
em alguém capaz de se sentar no mesmo sítio durante cinquenta anos a viver em função do seu umbigo. Prefiro antes transformar-me numa carroça própria para transportar
vegetais, e ser arrastado por caminhos pedregosos.
A verdade é que não pertenço ao gênero dos que se satisfazem com uma pessoa ou com o infinito. Tanto um quarto fechado como o céu me dão as mesmas náuseas.
O meu ser apenas brilha quando todas as suas facetas se expõem aos olhares de muita gente. Encho-me de buracos quando o público me falta, diminuindo de volume como
se fosse um pedaço de papel queimado. “Oh, Mrs. Moffat, Mrs. Moffat”, digo, “venha varrer tudo isto”. As coisas escaparam-se-me por entre os dedos. Sobrevivi a certos
desejos; perdi amigos, alguns levados pela morte – o Percival – outros por não me ter dado ao trabalho de atravessar a rua. Não sou tão dotado como em tempos pensei.
Certas coisas estão para lá do meu alcance. Nunca conseguirei entender os problemas filosóficos mais difíceis. Roma é o limite da minha viagem. Semelhante a uma
gota adormecida, sou por vezes sobressaltado pela ideia de que nunca verei os selvagens do Taiti arpoando peixes à luz dos lampiões, nem mesmo leões a saltar na
selva e homens nus a comer carne crua. Nunca aprenderei russo ou lerei os Vedas. Nunca voltarei a ir bater com força contra o marco-postal. (Contudo, e devido à
violência do embate, a minha noite é magnificamente iluminada com algumas estrelas.) Todavia, e à medida que vou pensando, a verdade está cada vez mais próxima.
Foram muitos os anos em que murmurei com complacência: “Os meus filhos... a minha mulher... a minha casa... o meu cão”. Assim que abria a porta, deixava-me levar
por todos esses rituais familiares, envolvendo-me no seu calor. Porém, esse véu carinhoso caiu. Deixei de ter sentimentos de posse. (Nota: em termos de refinamento
físico, uma lavadeira italiana ocupa a mesma posição que a filha de um qualquer duque inglês.) Mas deixa-me pensar. A gota cai; atingiu-se outra etapa. Etapa após
etapa. E por que razão deveriam estas terminar? E até onde nos levam elas? A que conclusão? O certo é que envergam trajes solenes. Quando confrontados com estes
dilemas, os crentes consultam estes indivíduos trajados de violeta e aspecto sensual que por mim vão passando. Pela parte que nos toca, não gostamos de professores.
Se um homem se levantar e disser: “Olhem, esta é a verdade”, nesse mesmo instante, e à laia de pano de fundo, vejo um gato cor de areia a roubar uma posta de peixe.
“Repare, esqueceu-se do gato”, digo. Era por isso que, na escola, quando estávamos na capela mal iluminada, a visão do crucifixo usado pelo professor tanto irritava
o Neville. Eu, que estou sempre distraído, quer seja a olhar para os gatos ou para aquela abelha que não pára de zumbir em torno do bouquet que Lady Hampton insiste
em manter colado ao nariz, de pronto invento uma história que acaba por obliterar os ângulos do crucifixo. Inventei milhares de histórias. Enchi inúmeros blocos
de apontamentos com frases prontas a serem usadas assim que encontrasse a história verdadeira, a história à qual todas as frases se referem. No entanto, nunca a
descobri. Foi então que comecei a perguntar: “Será que existem histórias?”.
A partir deste terraço, repara na multidão que fervilha a teus pés. Repara na azáfama geral e no barulho. Aquela mula está a dar problemas ao condutor. Meia
dúzia de vagabundos bem intencionados oferecem os seus préstimos. Outros passam sem olhar. Têm tantos interesses como os fios de uma meada. Repara no arco formado
pelo céu, curvado por sobre as nuvens brancas. Imagina a mistura composta pelos prados, aquedutos e estradas, e também túmulos romanos destruídos, tudo isto na zona
de Champagna, e para lá desta o mar, e depois ainda mais terra e mais mar. Poderia isolar qualquer pormenor deste quadro – por exemplo, a carroça e a mula – e descrevê-lo
com o maior dos à-vontades. Mas por que razão perder tempo a descrever um homem atrapalhado com uma mula? Poderia também inventar histórias da rapariga que vem a
subir os degraus. Encontrou-se com ele à sombra de um arco... “Está tudo acabado”, disse ele, desviando-se da gaiola onde se encontrava um papagaio de louça. Ou
apenas: “Acabou-se”. Mas para quê impor as minhas concepções arbitrárias? Para quê realçar isto, moldar aquilo e construir figurinhas semelhantes aos brinquedos
que os vendedores ambulantes exibem pelas ruas? Para quê escolher isto entre uma infinitude de coisas – apenas um pormenor?
Aqui estou, em pleno processo de mudar de pele e tudo o que dirão será: “O Bernard está a passar dez dias em Roma”. Aqui estou eu, a subir e a descer este
terraço sem qualquer ponto de referência. Contudo, reparem como, à medida que caminho, os pontos e os traços se vão transformando em linhas contínuas, no modo como
as coisas vão perdendo a identidade separada que as caracterizava quando subi os degraus. O enorme vaso vermelho é agora uma mancha encarniçada vogando num mar cuja
coloração oscila entre o vermelho e o amarelo.
O mundo começa a mover-se como as vedações se movem quando o comboio parte, ou como as ondas do mar ao tentarem acompanhar os movimentos de um barco a vapor.
Eu também me movo. Começo a fazer parte da sequência geral em que uma coisa se sucede a outra, e parece ser inevitável que àquela árvore se siga o poste do telégrafo,
e só depois o intervalo na vedação. E, à medida que avanço, rodeado, incluído e fazendo parte de um todo, começam-se a formar as frases habituais, e sinto vontade
de as deixar escapar pelo alçapão que tenho na cabeça, e dirigir os passos na direcção daquele homem, cuja parte posterior da cabeça não deixa de me parecer familiar.
Andamos juntos na escola. Não tenho dúvidas de que nos encontraremos. Por certo, jantaremos juntos. Falaremos. Mas espera, espera um momento.
Estes instantes de evasão não devem ser desprezados. É com pouca frequência que ocorrem. O Taiti torna-se possível. Inclino-me no parapeito e vejo uma vastidão
de água. De súbito, eis que surge uma barbatana. Esta impressão visual não se encontra ligada a qualquer linha racional, surge como uma barbatana de golfinho no
horizonte. É com frequência as impressões visuais transmitirem umas quantas ideias breves, as quais o tempo se encarregará de decodificar e traduzir em palavras.
Sendo assim, anoto na letra B a seguinte frase: “Barbatana num deserto aquático”. Eu, que estou permanentemente a tomar notas nas margens da mente com vista à elaboração
de uma frase final, registro esta entrada, à espera de uma noite invernosa.
De momento, o melhor que tenho a fazer é ir almoçar a algum lado, erguer o copo, olhar através do vinho e ver mais do que aquilo que me é permitido pelo distanciamento
que me caracteriza. E, quando uma mulher bonita entrar no restaurante e abrir caminho entre as mesas, direi para mim mesmo: “Reparem como ela caminha ao encontro
de um deserto aquático”. Trata-se de uma observação sem sentido, mas para mim é algo de solene, plúmbeo, com o som fatal dos mundos a ruir e das águas caminhando
para a destruição.
Assim sendo, Bernard (é contigo que falo, tu, meu companheiro de aventuras), vamos começar este novo capítulo e observar a formação desta nova experiência
– desta nova gota – qualquer coisa de desconhecido, de estranho, impossível de ser identificado e igualmente terrível, e que está prestes a se formar. Aquele homem
chama-se Larpent.
– Nesta tarde quente – disse Susan –, aqui neste jardim, aqui, neste prado onde falo com o meu filho, alcancei o ponto mais alto dos meus desejos. A dobradiça
do portão tem ferrugem; ele puxa-a para a abrir. As paixões violentas características da infância, as lágrimas que chorei no jardim quando a Jinny beijou o Louis,
a raiva que me invadia na escola (que cheirava a pinho), a solidão que sentia em locais desconhecidos, quando os cascos das mulas batiam de encontro ao chão e as
mulheres italianas falavam junto à fonte, embrulhadas em xales e com cravos espetados nos cabelos, tudo isto foi recompensado por um sentimento de segurança, posse,
familiaridade. Conheci anos produtivos, calmos. Possuo tudo o que vejo. Assisti ao crescimento das árvores que plantei. Construí pequenos lagos onde os peixes dourados
se escondem por baixo das folhas largas dos lírios. Coloquei redes por sobre os canteiros de morangos e alfaces, e coloquei as peras e as ameixas em sacos brancos
impedindo assim que as vespas as picassem. Vi os meus filhos e filhas, também eles outrora protegidos por rede quando ainda não se levantavam dos berços, crescerem
até se tornarem mais altos que eu e projectarem grandes sombras na erva quando caminham a meu lado.
Pertenço aqui. Semelhante às minhas árvores, é aqui que tenho raízes. Uso frases como “meu filho”, e “minha filha”, e até mesmo o dono da loja de ferragens,
erguendo os olhos do balcão cheio de pregos, tintas e redes, respeita o velho carro que se encontra estacionado à sua porta, repleto de redes para caçar borboletas,
almofadas e cortiços. No Natal, penduramos visco branco por cima do relógio, pesamos as nossas amoras e cogumelos, contamos os frascos de compota, e colocamo-nos
junto à veneziana da janela da sala para sermos medidos. Também faço coroas mortuárias com flores brancas e folhas prateadas, às quais junto um cartão lamentando
a morte do pastor; enviando condolências à mulher do carreteiro morto; e sento-me junto ao leito das mulheres moribundas que murmuram os últimos terrores e se agarram
com força à minha mão; frequento divisões intoleráveis para quem não tenha nascido no campo, acostumado à vida na quinta, às lixeiras e às galinhas a esgaravatar,
e à mãe que tem apenas dois quartos e muitos filhos para criar. Vi janelas partirem-se devido ao calor, e senti nas narinas o cheiro das fossas. Pergunto-me agora,
de tesoura de podar nas mãos e por entre as flores, por onde poderá entrar a sombra. Que choque será capaz de libertar a minha vida, tão laboriosamente unida e comprimida?
Mesmo assim, dias há em que estou cansada da felicidade natural, dos frutos a crescer e das crianças enchendo a casa com remos, espingardas, caveiras, livros ganhos
em concursos, e toda a espécie de troféus. Estou farta do meu corpo, farta do modo laborioso como trabalho, dos modos pouco escrupulosos característicos da mãe que
protege, que reúne os filhos à mesa quando chega a hora das refeições, fitando-os de forma possessiva.
E quando chega a Primavera, com os seus aguaceiros frios e flores amarelas, que, ao olhar para a carne e ao apertar com força os saquinhos dourados das sultanas,
me lembro do modo como o Sol se erguia, as andorinhas vasculhavam a erva, das frases inventadas pelo Bernard quando éramos crianças, das folhas que sobre nós caíam,
brilhantes, luminosas, riscando o azul do céu, projectando luzes tremulas nas raízes esqueléticas das faias onde me sentava a soluçar. O pardal levantou voo. Ergui-me
de um salto e comecei a perseguir as palavras que insistiam em correr à minha frente, sem parar de subir, escapando-se por entre os ramos. Então, tal como acontece
com a superfície vidrada de uma tigela, a fixidez da minha manhã quebrou-se, e, poisando as sacas de farinha, pensei: “A vida aperta-se em meu redor como uma redoma
de vidro cercando um canavial”.
Peguei na tesoura e cortei algumas malvas, eu, que já estive em Elvedon, pisei bolotas podres, vi uma dama a escrever no jardim e os jardineiros com as suas
vassouras. Vimo-nos obrigados a fugir, arquejando, caso contrário seríamos mortos e pregados ao muro como doninhas. Agora, calculo e encarrego-me de manter as coisas.
À noite, sento-me no cadeirão e estendo a mão para a costura; ouço o meu marido ressonar; levanto os olhos quando as luzes dos carros que vão passando iluminam as
janelas e sinto as ondas da vida agitarem-se e quebrarem-se em meu redor, eu, que estou presa pelas raízes; ouço grilos e vejo as vidas alheias rodopiarem como palhinhas
em torno dos pilares das pontes. Tudo isto acontece à medida que enfio e puxo a agulha, construindo um bordado no tecido de algodão branco.
Às vezes, penso no Percival, que tanto me amou. Estava na Índia, ia a cavalo e caiu. Há alturas em que me lembro da Rhoda. Gritos agudos despertam-me a meio
da noite. Porém, e durante a maior parte do tempo, sinto-me feliz em andar com os meus filhos. Corto as pétalas mortas das malvas. Entroncada, com o cabelo branco
antes do tempo, passeio pelos campos que me pertencem, percorrendo-os com um olhar claro, o olhar de quem tem olhos em forma de pêra.
– Cá estou eu – disse Jinny –, na estação de metropolitano onde conflui tudo o que há de desejável, Piccadilly South Side, Piccadilly North Side, Regent Street
e Haymarket. Deixo-me ficar debaixo do passeio durante alguns instantes, bem no coração de Londres. São muitas as rodas e os pés que circulam por sobre a minha cabeça.
É aqui que se encontram as avenidas da civilização, bifurcando-se depois nesta ou naquela direcção. Estou no coração da vida. Mas, reparem, lá está o meu corpo reflectido
naquele espelho. Como ele parece solitário, mirrado, envelhecido! Deixei de ser jovem. Deixei de pertencer à procissão. São milhões os que caminham escada abaixo,
numa descida infernal. Muitas são as engrenagens que os empurram para baixo. O número dos que morreram ascende aos muitos milhões. O Percival também morreu. Todavia,
continuo viva, em movimento. Mas, o que acontecerá se eu fizer um sinal?
Dado não passar de um pequeno animal, arfando de medo, deixo-me aqui ficar, palpitante, trêmula. Porém, sei que hei-de perder o medo. Baixarei o chicote sobre
os meus flancos. Não sou um animalzinho uivante que procura a sombra. Só me senti assim durante breves instantes, ao me ver sem ter tido tempo de me preparar, o
que sempre faço antes de me confrontar com a visão de mim mesma.
É verdade; não sou jovem – já falta pouco para sentir que levanto o braço em vão e que o lenço cai a meu lado sem ter emitido qualquer sinal. Deixarei de ouvir
a noite encher-se de suspiros e sentir que alguém se aproxima de mim através da escuridão. As vidraças dos túneis escuros deixarão de se encher de reflexos. Olharei
para os rostos alheios e vê-los-ei procurar outra face. Durante um breve momento admito que o modo como os corpos descem as escadas rolantes, muito direitos, assemelhando-se
ao avançar de um qualquer exército composto por mortos, e a vibração das grandes máquinas que nos empurram a todos, me fez medo e senti a necessidade de procurar
abrigo.
No entanto, ainda à frente do espelho e fazendo todos aqueles preparativos que me permitem estar à vontade, juro nunca mais sentir medo. Penso em todos os
autocarros que existem, amarelos e vermelhos, que param e partem de acordo com o horário. Penso nos magníficos e poderosos automóveis que ora abrandam até estarem
em condições de acompanhar o caminhar dos seres humanos, ora se precipitam para a frente como flechas; penso nos homens e nas mulheres, equipados, preparados, que
seguem em frente. Trata-se de uma procissão triunfante; é este o exército que, armado de pendões, águias de bronze e cabeças coroadas de coroas de louro, ganhou
a batalha. Trata-se de indivíduos superiores aos selvagens que cobrem as ancas com panos, às mulheres desgrenhadas e de peitos caídos, aos quais as crianças se agarram.
Estas vias largas – Piccadilly South, Piccadilly North, Regent Street e Haymarket – são como carreiros cobertos de areia atravessando a selva. Também eu, com os
meus sapatinhos de pele, o lenço que mais não é que uma rede finíssima, os lábios vermelhos e as sobrancelhas perfeitamente desenhadas, marcho com eles rumo à vitória.
Reparem no modo como todos exibem as roupas que vestem. Mesmo no subsolo, é como se a luz nunca parasse de brilhar. Não deixarão que a terra seja uma pasta
enlamada e cheia de vermes. Existem vitrinas carregadas de rendas e seda, e roupa interior finamente bordada. Púrpura, verde, violeta, as cores misturam-se por toda
a parte. Pensem no modo como estes túneis que sulcam as rochas foram organizados, abertos, limpos e pintados. Os elevadores sobem e descem; os comboios param e partem
com uma regularidade semelhante à das ondas do mar. É com isto que concordo. Sou natural deste mundo, sigo os seus pendões. Como poderia pensar em procurar abrigo
quando tudo é tão magnificamente curioso, ousado, aventureiro, e também suficientemente forte para, mesmo durante o maior esforço, parar e rabiscar na parede uma
qualquer anedota? É por isso que vou espalhar pó no rosto e retocar a pintura dos lábios. Traçarei a linha das sobrancelhas ainda com mais força. Tão direita como
os outros, acabarei por emergir à superfície, em Piccadilly Circus. Farei sinal a um táxi, cujo condutor compreenderá de imediato aquilo que quero, demonstrando-o
pelo modo como ocorrer à chamada. O certo é que ainda desperto desejo. Continuo a sentir o modo como os homens se viram na rua, lembrando o mover silencioso das
hastes de milho quando o vento as empurra, enchendo-as de pregas vermelhas. Vou para casa encher as jarras com ramos de flores exuberantes, extravagantes. Disporei
as cadeiras desta ou daquela maneira. Terei prontos alguns cigarros, copos, e um qualquer livro recém-publicado, cuja capa chame a atenção, não se vá dar o caso
de receber a visita do Bernard, do Neville ou do Louis. Mas talvez nem sequer seja um deles, antes sim alguém novo, desconhecido, alguém com quem me tenha cruzado
numa escada e a quem, voltando-me um pouco, murmurei: “Vem”. Ele virá esta tarde, alguém que não conheço, alguém novo. O exército silencioso dos mortos que desça.
Eu sigo em frente.
– Deixei de precisar de um quarto – disse Neville –, o mesmo se passando em relação às paredes e às lareiras. Já não sou jovem. Passo pela casa da Jinny sem
qualquer sentimento de inveja, e sorrio ao jovem que, com algum nervosismo, arranja a gravata nos degraus. O janota que toque a campainha; que a encontre. Quanto
a mim, encontrá-la-ei se quiser; se não, nem sequer me deterei. A velha acidez deixou de arder – tudo se foi: a inveja, a intriga e a amargura. Também perdemos a
nossa glória. Quando éramos jovens, sentávamo-nos em qualquer lado, em bancos desconfortáveis e em salas onde as portas não paravam de bater. Andávamos de um lado
para o outro seminus, iguais a rapazes atirando água uns aos outros no convés do navio. Sou agora capaz de jurar que gosto de ver as multidões sair do metropolitano
ao fim de um dia de trabalho, uniformes, indiscriminadas, incontáveis. Já colhi o fruto que me cabia. Observo sem nutrir qualquer tipo de paixão.
Ao fim e ao cabo, não somos responsáveis. Não somos juízes. Ninguém nos obriga a torturar os nossos semelhantes com ferros e outros aparelhos; ninguém nos
pede que subamos aos púlpitos, dando-lhes sermões nas tardes pálidas de domingo. É bem melhor olhar para uma rosa, ou mesmo ler Shakespeare, que é o que faço aqui,
em Shaftesbury Avenue. Cá está o bobo, cá está o vilão. Ardendo na sua barca, é Cleópatra quem se aproxima naquele carro. Também aqui, se encontram as imagens dos
danados, de homens sem nariz que, na esquadra de polícia, gritam ao sentir que lhes estão a queimar os pés. Tudo isto é poesia desde que ninguém o escreva. Todos
representam os seus papéis com a maior das exactidões, e, antes mesmo de abrirem a boca, já sei o que vão dizer, ficando à espera do momento divino em que pronunciem
a palavra que devia ter sido escrita. Se fosse apenas pelo bem da peça, era capaz de percorrer Shaftesbury Avenue para sempre.
Vinda da rua, entrando em salas, há gente a falar, ou pelo menos a tentar fazê-lo. Ele diz, ela diz, alguém comenta que as coisas têm sido ditas com tanta
frequência, que basta uma palavra para que tudo fique dito. Discussões, gargalhadas, velhas ofensas – tudo isto paira no ar, engrossando-o. Pego num livro e leio
meia página de qualquer coisa. Ainda não consertaram o bico do bule de chá. Vestida com as roupas da mãe, uma criança dança.
Mas é então que a Rhoda, ou talvez seja o Louis, não importa, trata-se de um espírito austero e angustiado, entra e volta a sair. Querem enredo, não querem?
Querem uma razão? Esta cena vulgar não lhes basta? Não lhes basta esperar que as palavras sejam pronunciadas como se tivessem sido escritas; verem a forma encaixar
no sítio que lhes foi previamente destinado; aperceberem-se de súbito de um grupo recortando-se contra o céu. Contudo, se o que querem é violência, em todas as salas
vi mortes, crimes e suicídios. Este entra, aquele sai. Há soluços na escada. Ouvi frios quebrarem-se e o som de linhas unindo-se em nós no pedaço de cambraia branca
que aquela mulher tem poisado nos joelhos. Para quê, e à semelhança do que acontece com o Louis, querer encontrar um motivo, ou ainda, tal como a Rhoda, voar até
aos bosques e afastar as folhas dos loureiros à procura de estátuas? Dizem que devemos enfrentar a tempestade acreditando que o Sol brilha do outro lado; que o Sol
se reflecte em lagos cobertos de andorinhas. (Estamos em Novembro; os pobres seguram caixas de fósforos nos dedos roídos pelo vento.) Dizem que só aí se poderá descobrir
a verdade, e que a virtude (que aqui se deixa corromper nos becos) apenas lá é perfeita. A Rhoda passa por nós de pescoço estirado, um brilho fanático e cego no
olhar. O Louis, agora tão corpulento, sobe até ao sótão, coloca-se à janela, e fica a observar o ponto por onde ela desapareceu. Contudo, vê-se obrigado a se sentar
no escritório, rodeado de máquinas de escrever e telefones, e descobrir tudo o que é necessário à nossa reabilitação, e à reforma de um mundo que ainda não nasceu.
Todavia, nesta sala onde entro sem bater, as coisas dizem-se como se tivessem sido escritas. Dirijo-me para a estante. Se me apetecer, leio meia página de
qualquer coisa. Não preciso falar. Escuto. Estou incrivelmente alerta. Claro que qualquer um pode ler este poema sem grandes esforços. É com frequência a página
encontrar-se corrompida e manchada de lama, rasgada e unida com folhas de coloração desmaiada, com pedacinhos de verbena ou gerânio. Para se ler este poema é preciso
ter-se olhos ultra-sensíveis, semelhantes àquelas lâmpadas que, a meio da noite, iluminam as águas do Atlântico, quando apenas só um punhado de algas se encontra
à superfície, ou, sem que nada o fizesse esperar, as ondas se abrissem e um monstro surgisse por entre elas. É preciso pôr de lado invejas e antipatias e não interromper.
É preciso ter paciência e um cuidado infinito, deixando que a luz descubra as coisas só por si, quer se trate das patas delicadas das aranhas percorrendo uma folha,
ou o som da água a escoar-se por um qualquer esgoto sem importância.
Nada deverá ser rejeitado por medo ou horror. O poeta que escreveu esta página (aquilo que leio enquanto os outros falam) retirou-se. Não existem vírgulas
nem pontos e vírgulas. Os versos não se sucedem com a métrica conveniente. A maior parte das coisas não faz sentido. Temos de ser cépticos, mas isso não quer dizer
que não deitemos as precauções para trás das costas e não aceitemos tudo o que nos entra pela porta. Há vezes em que devemos chorar; outras, servimo-nos de um machado
para cortar de forma impiedosa todo o tipo de cascas e outras excrescências. E assim (enquanto eles falam) deixar a rede mergulhar cada vez mais fundo, só depois
a puxando. É então que trazemos à superfície tudo o que ele e ela disseram, fazendo poesia.
Já os ouvi falar. Foram-se todos embora. Estou só. O facto de poder ver o fogo consumir-se eternamente, como uma caldeira, como uma fornalha, deveria alegrar-me.
Agora, um pedaço de madeira assemelha-se a um cadafalso, a um poço, ou ao vale da felicidade; agora é uma serpente vermelha com escamas brancas. Junto ao bico do
papagaio, o fruto que enfeita o cortinado parece aumentar de volume. O lume zumbe, lembrando insectos a zumbir na floresta. Não pára de crepitar. Enquanto isso,
lá fora os ramos quebram-se, e, provocando um ruído semelhante ao de um tiro, uma árvore cai. São estes os sons da noite de Londres. É então que ouço aquilo por
que esperava. Aproxima-se cada vez mais, hesita, pára à minha porta. Grito: “Entra. Senta-te junto a mim. Senta-te à beira do cadeirão”. Deixando-me levar por esta
velha fantasia, grito: “Aproxima-te, aproxima-te!”.
– Estou de volta ao escritório – disse Louis. – Penduro o casaco aqui, coloco a bengala ali – gosto de imaginar que Richelieu se apoiou na minha bengala. E
assim me despojo da autoridade que possuo. Passei o dia sentado à direita do director, na mesa envernizada. Os mapas dos nossos empreendimentos bem sucedidos olham-nos
da parede. Unimos o mundo com os navios da companhia. Só as nossas linhas mantêm o mundo unido. Sou muitíssimo respeitado. Todos os jovens que trabalham no escritório
se apercebem da minha entrada. Posso jantar onde quiser, e, sem revelar qualquer vaidade, imaginar que já falta pouco para que possa adquirir uma casa no Surrey,
dois automóveis, e uma estufa com algumas espécies raras de melão. Apesar disto, continuo a voltar a este salão, a pendurar o chapéu, e, na mais completa solidão,
reiniciar a curiosa tentativa que me mantém ocupado desde o dia em que bati à porta da sala do meu mestre. Abro um livrinho. Leio um poema. Basta apenas um poema.
Oh, vento oeste...
“Oh, vento oeste, tu que estás em luta constante com a minha mesa de mogno e os polainitos que uso, e também, como não podia deixar de ser, com a vulgaridade
da minha amante, uma actrizinha que nunca conseguiu falar inglês correctamente...”
Oh, vento oeste, quando irás soprar...
A Rhoda, com a sua enorme capacidade de abstracção, com aqueles olhos cegos, de cor indefinida, é incapaz de te destruir, vento oeste, quer venha à meia-noite,
quando as estrelas brilham, ou à hora bastante mais prosaica do meio-dia. Deixa-se ficar à janela a olhar os cataventos e as vidraças partidas das casas dos pobres...
Oh, vento oeste, quando irás soprar...
A minha tarefa, o meu fardo, tem sido sempre maior que o das outras pessoas. Colocaram-me uma pirâmide nos ombros. Tentei desempenhar uma tarefa colossal.
Derrotei uma equipa violenta, desordenada e amiga de fazer jogo sujo. Com o meu sotaque australiano, sentei-me nos restaurantes e tentei fazer com que os criados
me aceitassem, sem, no entanto, esquecer as minhas mais solenes e severas convicções, bem assim como as discrepâncias e incoerências que tinham de ser resolvidas.
Enquanto rapaz, e muito embora sonhasse com o Nilo e me mostrasse relutante em acordar, consegui bater à porta construída de madeira de carvalho. Teria sido muito
mais feliz se, à semelhança da Susan e do Percival, a quem tanto admiro, tivesse nascido sem destino.
Oh, vento oeste, quando irás soprar, fazendo assim cair a chuvinha miudinha?
A vida não tem sido fácil para mim. Sou uma espécie de aspirador gigante, uma boca gelatinosa, aderente, insaciável. Tentei desalojar da carne a pedra que
aí se alojara. Foi pouca a felicidade natural que conheci, muito embora tenha escolhido a minha amante de forma a que, com o seu sotaque cockney me fizesse sentir
à vontade. Porém, ela limita-se a espalhar pelo chão uma série de roupa interior pouco limpa, e a mulher da limpeza e os marçanos não param de falar a meu respeito
durante o dia, troçando do meu porte altivo e empertigado.
Oh, vento oeste, quando irás soprar, fazendo assim cair a chuvinha miudinha?
Afinal, que tem sido o meu destino, a pirâmide pontiaguda que trago aos ombros ao longo de todos estes anos? Que me lembre do Nilo e das mulheres transportando
ânforas à cabeça; que me sinta parte dos verões e invernos que fazem ondular o milho e gelar os rios? Não sou um ser singular e passageiro. A minha vida não se assemelha
ao brilho momentâneo que ocorre na superfície de um diamante. Penetro no solo de forma tortuosa, semelhante ao carcereiro que percorre as celas transportando uma
lanterna. O meu destino traduz-se pela obrigação de jantar, de unir, de transformar em um todos os fios existentes no mundo, os mais finos, os mais grossos, os que
se partiram, tudo o que constitui a nossa longa história, os nossos dias tumultuosos e variados. Há sempre algo mais para ser compreendido; uma discórdia a que dar
ouvidos; uma falsidade a ser reprimida. Estes telhados de telhas soltas, gatos escanzelados e águas-furtadas, todos eles estão quebrados e cheios de fuligem. Abro
caminho por sobre vidros partidos, azulejos riscados, e apenas vejo rostos vis e famintos.
Vamos supor que consigo resumir tudo isto – escrevo um poema e depois morro. Posso garantir-vos que não o faria de má vontade. O Percival morreu. A Rhoda deixou-me.
Contudo, sei que viverei de forma muito respeitável, abrindo caminho com a minha bengala de castão dourado por entre as ruas da cidade. Talvez nunca chegue sequer
a morrer, nunca consiga atingir essa continuidade e permanência... Oh, vento oeste, quando irás soprar, fazendo assim cair a chuvinha miudinha?
O Percival estava coberto de folhas verdes e desceu à terra com todos os ramos a murmurar ainda de acordo com a brisa estival. A Rhoda, com quem partilhava
o silêncio quando todos os outros falavam, ela, que se retraía e desviava quando a manada se reunia e marchava ordeiramente rumo às ricas pastagens, desapareceu
como uma miragem. É nela que penso quando o sol incendeia os telhados da cidade; quando as folhas secas caem ao chão; quando os velhotes se aproximam com as bengalas
pontiagudas e furam os pequenos pedaços de papel do mesmo modo que nós fazíamos com ela...
Oh, vento oeste, quando irás soprar, fazendo assim cair a chuvinha miudinha? Oh, meu Deus, como era bom o meu amor estar nos meus braços, E eu de volta ao
leito!
Regresso ao meu livro; regresso à minha tentativa.
– Oh, vida, como te tenho odiado – disse Rhoda –, oh, seres humanos, como vos tenho detestado! O modo como se têm acotovelado, a forma como têm interrompido,
o aspecto hediondo que apresentam em Oxford Street, o ar esquálido que tinham, sentados em frente uns aos outros no metropolitano, fixando o vazio! Agora, à medida
que subo esta montanha, no cimo da qual avistarei África, a minha mente está repleta de embrulhos compostos por papel castanho e pelos vossos rostos. Vocês mancharam-me
e corromperam-me. Para mais, nas filas que formavam junto às bilheteiras, desprendia-se dos vossos corpos um odor desagradável.
Estavam todos vestidos em tons de castanho e cinzento, sem que nos vossos chapéus se verificasse a presença de uma simples pena azul. Ninguém tinha coragem
de ser diferente daquilo que era. Para chegarem ao fim do dia, imagino até que ponto a vossa alma teve de enfrentar um processo de dissolução, as mentiras, vénias,
galanteios e actos de servilismo por vós levados a cabo! A forma como me amarraram a um único ponto, a uma cadeira, durante uma hora, e se sentaram do lado oposto!
A forma como me arrancaram os espaços em branco que dividem as horas e os transformaram em bolinhas sujas, as quais depois atiraram para o cesto dos papéis com as
vossas patas gordurosas!
No entanto, submeti-me. Com a mão, cobri todos os bocejos e caretas. Não saí para a rua e parti uma garrafa de encontro à valeta em sinal de protesto. Tremendo
de raiva, tentei mostrar que não estava surpreendida. Aquilo que faziam estava feito. Se a Susan e a Jinny puxavam as meias de uma determinada forma, então eu fazia
o mesmo. A vida era tão terrível, que apoiei as sombras umas nas outras. Olhei a vida desta e daquela maneira; deixei que ali houvessem folhas de rosa e ali parras
de videira – percorri a rua inteira, Oxford Street, Piccadilly Circus, com o turbilhão existente no meu espírito, com as parras e as folhas de rosa. Haviam também
malões, os quais se encontravam à porta da escola no primeiro dia de aulas. Esgueirava-me em segredo para ler as etiquetas e sonhar a respeito de nomes e rostos.
Talvez Harrogate, talvez Edimburgo, talvez toda a glória destes locais estivesse concentrada no ponto onde se podia ver uma qualquer rapariga, cujo nome já esqueci.
Mas tratava-se apenas do nome. Abandonei o Louis; receava abraços. Com que vestes, com que velas, tentei ocultar a lâmina azul-escura? Implorei ao dia para que se
revelasse durante a noite. Ansiei ver o armário mover-se, sentir a cama tornar-se mais macia, flutuar nos ares, avistar árvores e rostos distantes, um pântano rodeado
por uma faixa de terreno verde, e duas figuras alteradas despedindo-se. Atirei as palavras aos montes, qual agricultor espalhando as sementes pelos campos arados
quando a terra está nua. O meu maior desejo sempre foi o de aumentar a noite para a conseguir encher de sonhos.
Então, num qualquer festival, separei os fios condutores da música e descobri a casa que tínhamos construído: o quadrado em cima do rectângulo. “Está tudo
contido nesta casa”, disse, ao mesmo tempo que ia sendo atirada contra os ombros das pessoas que seguiam no mesmo autocarro, logo após a morte do Percival. Acabei
por ir para Greenwich. Enquanto caminhava pelo paredão, rezei para que me pudesse sempre manter nos limites do mundo, nos locais onde não há vegetação, mas sim uma
ou outra coluna de mármore. Atirei o ramo de flores contra a onda que alastrava. Disse: “Consome-me, leva-me até ao fim dos limites”. A onda rebentou; o ramo murchou.
São poucas as vezes em que penso no Percival.
Vou agora a subir esta colina espanhola, e não tenho qualquer dificuldade em achar que esta mula é a minha cama, e que já morri. Apenas uma película muito
fina me separa das profundezas infinitas. O coxim vai-se tornando mais mole. Vamos subindo aos tropeções – avançamos aos tropeções. Tenho vindo sempre a subir, rumo
a uma árvore solitária com um pequeno lago junto a si. Naveguei pelas águas da beleza na noite em que as montanhas se fecharam sobre si mesmas, semelhantes a aves
que encolhem as asas. Apanhei um ou outro cravo e hastes de feno. Deixei-me cair na turfa, toquei com os dedos num osso velho, e pensei: “Quando o vento fustiga
este monte, talvez que aqui só se consiga encontrar um grão de poeira”.
A mula tropeça e vai avançando. O cume da colina eleva-se como nevoeiro, mas lá de cima poderei ver África. A cama acaba por ceder debaixo do meu peso. Os
lençóis salpicados de buracos amarelos deixam-me cair. A boa mulher, cuja face lembra um cavalo branco e que se encontra aos pés da cama, faz um gesto de despedida
e vira-me as costas. Sendo assim, quem me irá acompanhar? Apenas as flores, nada mais. Apanhando-as uma a uma, fiz com elas uma coroa e ofereci-as – oh, a quem?
Avançamos agora pelo precipício. Aos nossos pés vêem-se as luzes dos barcos que pescam arenques. Os rochedos desaparecem. Pequenas e cinzentas, são muitas as ondas
que se espalham aos nossos pés. Nada toco. Nada vejo. Podemo-nos afundar e ir para o meio das ondas. O mar produziria toda a espécie de sons nos meus ouvidos. A
água salgada escureceria as pétalas brancas. Flutuariam durante alguns instantes, acabando por se afundar. Fazendo-me rebolar por sobre elas, as ondas acabariam
por me servir de suporte. Tudo se desfaz numa tremenda quantidade de salpicos, dissolvendo-me. Contudo, aquela árvore possui ramos; e aquilo mais não é que o contorno
bem definido do telhado de uma casa de campo. Aquelas formas pintadas de vermelho e amarelo afinal são rostos. Ponho os pés no chão e começo a andar com cautela,
até acabar por colocar a mão contra a porta dura de uma estalagem espanhola.
O Sol estava a pôr-se. A pedra dura que constituía o dia estava-se a partir, e a luz escoava-se por todas as fendas. As ondas eram percorridas por raios vermelhos
e dourados, semelhantes a flechas enfeitadas de penas escuras. Raios esporádicos de luz brilhavam e vagueavam um pouco por toda a parte, como se fossem sinais enviados
de ilhas isoladas, ou mesmo dardos lançados por rapazes brincalhões e sem vergonha. Todavia, as ondas, ao se aproximarem da praia, já não possuíam qualquer tipo
de luz, caindo todas ao mesmo tempo com um baque surdo, tal como um muro a cair, um muro de pedra cinzenta, sem que qualquer brilhozinho as iluminasse.
Elevou-se uma brisa; as folhas foram percorridas por um tremor; e, ao serem agitadas, perderam a intensidade castanha que as caracterizava, adquirindo tons
cinzentos ou brancos consoante a direcção em que as árvores se moviam. O falcão poisado no ramo superior pestanejou por alguns instantes, levantou voo e afastou-se.
A tarambola selvagem que vagueava pelos pântanos não parava de gritar, proclamando aos quatro ventos a sua solidão. O fumo dos comboios e das chaminés como que se
desfiava, fundindo-se com as velas que pairavam por sobre o mar e os campos.
O milho já fora cortado. O restolho era tudo o que restava da agitação que antes ali se vivera. Devagar, um mocho elevou-se do ulmeiro em que estava poisado,
indo aterrar num cedro. Nas montanhas, as sombras lentas ora se alargavam ora encolhiam. O lago existente na parte mais alta da charneca era um buraco vazio. Nenhum
focinho peludo ali se reflectia, casco algum ali batia, e nem mesmo os animais sequiosos ali procuravam água. Uma ave, empoleirada num ramo cor de cinza, encheu
o bico de água fria.
Não se ouvia o som das ceifeiras nem o ruído das rodas, mas apenas o súbito rugir do vento a enfunar as velas, com isso fustigando as copas das árvores. Via-se
ali um osso, objecto de tal forma marcado pela chuva e pelo sol, que emitia um brilho semelhante ao de uma concha polida pelo mar. A árvore, que na Primavera apresentava
uma coloração avermelhada e que no Verão deixava o vento sul agitar as folhas sensíveis, apresentava-se agora tão negra e despida como uma barra de ferro.
A terra encontrava-se tão longe que era impossível distinguir os brilhos de um telhado ou de uma janela. O tremendo peso da terra sombria arrastara consigo
estas frágeis cadeias, todas estas conchas embaraçadas. Via-se a sombra líquida de uma nuvem, o bater da chuva, um raio solitário de sol, ou o riscar inesperado
dos relâmpagos. Semelhantes a obeliscos, árvores solitárias marcavam as colinas distantes.
O sol poente, despojado de calor e cada vez menos intenso, suavizava as mesas e as cadeiras enfeitando-as de losangos castanhos e amarelos. Separadas por sombras,
o seu peso parecia maior, como se a cor, inclinando-se, se tivesse concentrado num único lado. As facas, garfos e copos pareciam agora mais alongados, como que inchados
e mais imponentes. Rodeado por um círculo vermelho, o espelho imobilizava a cena como que para todo o sempre.
Enquanto isso, as sombras alongavam-se na praia; a escuridão aumentava. A bota de ferro negro era agora uma mancha azul profunda. As rochas já não eram duras.
A água que rodeava o velho barco era escura, como que repleta de mexilhões. A espuma era lívida, deixando aqui e ali um brilho prateado na areia enevoada.
– Hampton Court – disse Bernard. – Hampton Court. É aqui o nosso ponto de encontro. Reparem nas chaminés vermelhas, nas ameias quadradas de Hampton Court.
O tom de voz que utilizo para pronunciar Hampton Court serve para provar que sou um indivíduo de meia-idade. Há dez, quinze anos atrás, teria dito Hampton Court,
ou seja, na interrogativa, perguntando-me o que lá poderia encontrar. Lagos, labirintos? Ou, como quem antecipa algo: O que me irá acontecer uma vez lá chegado?
Quem irei encontrar? Agora, Hampton Court, Hampton Court, as palavras chocam contra um gongo suspenso no ar (o qual fiz os possíveis por limpar através de meia dúzia
de telefonemas e postais) e ecoam em anéis de som, estrondosos, vibrantes. Tudo isto me traz à mente uma série de imagens (tardes de Verão, barcos, senhoras de idade
erguendo as pontas das saias, uma urna no Inverno, os narcisos em Março), tudo isto flutua agora nas águas que se encontram bem no fundo de todas as cenas.
Ali, na porta da estalagem, o local onde nos combinamos encontrar, posso vê-los a todos – Susan, Louis, Rhoda, Jinny e Neville. Chegaram juntos. Dentro de
momentos, quando me juntar a eles, formar-se-á um outro arranjo, um outro padrão. Aquilo que agora se desperdiça e forma cenas em profusão, será verificado, organizado.
Sinto-me um tanto relutante em me submeter a esta regra. Sinto que a ordem do meu ser irá ser alterada a cinquenta jardas de distância. A força do íman por eles
formado faz-se exercer sobre mim. Aproximo-me. Não me vêem. A Rhoda acaba por me descobrir, mas, dado ter um verdadeiro horror ao choque provocado pelos encontros,
finge que não passo de um estranho. O Neville volta-se. De súbito, ao levantar a mão para o saudar, grito: “Também coloquei pétalas de flores entre as páginas dos
sonetos de Shakespeare”, e mostro-me bastante agitado. Os meus barcos vão vogando ao sabor das ondas. Não existe panaceia (e talvez seja bom tomar nota disto) contra
o choque característico dos encontros.
É também pouco agradável termos de juntar pontas rasgadas, cruas. Só aos poucos o encontro se vai tornando agradável, à medida que entramos na estalagem e
vamos tirando casacos e chapéus. Sentamo-nos numa sala de jantar enorme e despida, a qual dá para uma espécie de parque, um qualquer espaço verde iluminado de forma
esplendorosa pelo sol poente, o que faz com que as árvores estejam separadas por barras douradas.
– Agora, sentados lado a lado nesta mesa estreita – disse Neville –, agora que a primeira vaga de emoções ainda não se esbateu, que sentimentos nos dominam?
Com honestidade e de forma aberta e frontal, como convém a velhos amigos que se encontram com dificuldade, quais os sentimentos que o nosso encontro desperta? Pena.
A porta não se irá abrir; ele não entrará. E temos pesos às costas, o que acontece com todos os que alcançaram a meia-idade. O melhor será despojarmo-nos dos fardos.
Perguntamos uns aos outros o que foi que fizemos da vida. Tu, Bernard; tu, Susan; tu, Jinny; e vocês, Rhoda e Louis?
As listas foram afixadas na porta. Antes de quebrarmos estes rolos e de nos servirmos do peixe e da salada, meto a mão no bolso interior e encontro os documentos
que procurava, aquilo que transporto para provar a minha superioridade. Passei. Trago documentos no bolso interior que o podem provar. Mas os teus olhos, Susan,
cheios de nabos e milheirais, perturbam-me.
Os papéis que trago no bolso, a prova de que fui bem sucedido, produzem um som bastante fraco, semelhante ao que é provocado por um homem que bate as palmas
num campo vazio para assim afugentar as gralhas. Agora, sob o olhar da Susan, os ruídos por mim provocados deixaram de se fazer sentir, e apenas escuto o vento varrendo
os campos arados e o canto de uma ave, talvez uma cotovia intoxicada. Será que o criado me escutou, o criado ou aqueles casais furtivos, ora se debruçando e recostando
ora olhando para as árvores que ainda não estão suficientemente escuras para proteger os seus corpos prostrados? Não; o som das palmas fracassou.
Que será então que me resta, agora que não posso puxar dos documentos e ler-vos em voz alta a prova de que fui bem sucedido? O que resta é o que a Susan traz
à tona com aqueles olhos verdes e amargos, aqueles olhos cristalinos, em forma de pêra. Quando nos juntamos, há sempre alguém que se recusa a ser submergido (e os
nossos encontros têm as pontas afiadas); alguém cuja identidade desejamos abafar com o nosso peso. Pela parte que me toca, gostaria de submergir a Susan. Falo para
a impressionar. Escuta-me, Susan!
Quando recebo visitas ao pequeno-almoço, até mesmo os frutos bordados nas cortinas parecem inchar, tornando assim possível que os papagaios os agarrem; qualquer
um os pode abrir pressionando-os entre os dedos. O leite desnatado da manhã ganha colorações opalinas, azuis, cor-de-rosa. A essa mesma hora, o teu marido – o homem
que pôs de parte as palavras e aponta para as vacas estéreis com o chicote – vai resmungando. Tu nada dizes. Nada vês. O hábito torna-te cega. A essa hora, a vossa
relação é muda, nula, parda. Nesse mesmo instante, a minha é quente e variada. Desconheço a palavra “repetição”. Os dias são todos perigosos. Lisos à superfície,
somos todos feitos de ossos, os quais, e à semelhança das serpentes, se vão contorcendo. Vamos supor que lemos o The Times; vamos supor que discutimos. Trata-se
de uma experiência. Suponhamos que é Inverno. A neve vai-se acumulando no telhado e escorregando por ele abaixo, selando-nos numa gruta vermelha. Os canos rebentaram.
Pomos uma banheira amarela no meio do quarto. Corremos a procurar todo o tipo de recipientes. Olha para ali – voltou a rebentar junto à escada. A visão da catástrofe
faz-nos rir a bom rir. Que se destrua a solidez! Que nos tirem tudo o que temos! Ou será que é Verão? Podemos ir passear para junto de um lago e ver os gansos chineses
nadar perto da margem, ou observar uma igreja citadina, semelhante a um osso, bem assim como as árvores tremulas que a rodeiam. (Escolho ao acaso; escolho o que
é óbvio.) Todos os sinais são como arabescos destinados a ilustrar um qualquer episódio e a maravilhar-nos no mais íntimo de nós mesmos. A neve, o cano rebentado,
a banheira de metal, os gansos chineses – trata-se de sinais erguidos bem alto, bastando-me olhar para eles para ler as características de cada amor; para ver o
quanto eram diferentes.
Entretanto, tu – e é por isso que quero diminuir a tua hostilidade, esses olhos verdes fixos nos meus, o teu vestido pobre, as tuas mãos calejadas, e todos
os outros emblemas característicos do teu esplendor maternal – fixaste-te como uma lapa à mesma rocha. Sim, é verdade, não te quero magoar; apenas refrescar e restaurar
a crença que nutro em relação a mim mesmo, e que desapareceu quando entraste. Antes, quando nos encontramos num restaurante de Londres com o Percival, tudo fervilhava
e se separava em grupos; podíamos ter sido qualquer coisa. Acabamos por escolher (às vezes parece que a escolha foi feita por nós) um par de tenazes, as quais nos
foram colocadas entre os ombros. Escolho. Sigo o fio da vida para dentro, e não para o exterior, em direcção a uma fibra crua desprotegida. Sinto-me sufocado e magoado
pelas marcas deixadas por mentes, rostos, e outras coisas tão subtis que, muito embora possuidoras de cheiro, cor, textura e substância, não têm nome. Para vocês,
que vêem os limites estreitos da minha vida e a linha que ela não pode ultrapassar, não passo do Neville. Contudo, e para mim, não conheço limites; sou uma rede
cujas fibras se estendem de forma imperceptível por todas as partes do mundo. É quase impossível distingui-la do que nela se encontra envolvido. Levanta baleias
– monstros enormes e alforrecas brancas, tudo o que é amorfo e errante ; detecto; distingo. Por baixo dos meus olhos, abre-se... um livro; vejo o fundo; o coração
– observo as profundezas. Sei quais os amores que estão prestes a se incendiar; o modo como a inveja espalha por toda a parte os seus raios verdes; a forma intrincada
como os amores se cruzam; como os amores se atam e separam brutalmente. Já estive amarrado; já fui separado.
Mas já conhecemos tempos gloriosos, quando esperávamos que a porta se abrisse e o Percival entrou; quando nos deixávamos cair num qualquer assento existente
nas salas públicas.
– Havia o bosque de faias – disse Susan –, Elvedon, e os ponteiros dourados do relógio lançando raios por entre as árvores. Os pardais partiram as folhas.
Luzes tremeluzentes pairavam por sobre a minha cabeça. Conseguiram-me escapar.
No entanto, repara bem, Neville (a quem desprezo para que possa ser eu mesma), na minha mão poisada em cima da mesa. Repara nas tonalidades saudáveis que se
espalham pelos nós dos dedos e pela pele da palma. O meu corpo é usado diariamente, como um instrumento manejado por um bom jardineiro que dele sabe fazer uso. A
lâmina está limpa, afiada, um pouco gasta no centro. (Batalhamos juntos como animais lutando no campo, como veados que fazem bater as hastes umas contra as outras.)
Vistas através da carne pálida e flácida, até mesmo as maçãs e os restantes frutos devem dar a sensação de estarem numa redoma de vidro. Enterrados num cadeirão
com apenas uma pessoa (mas uma pessoa que muda), vocês limitam-se a ver uma pequena porção de carne; os nervos, as fibras, o fluxo, ora veloz ora lento, do sangue;
mas nada vêem por completo.
Não vêem a casa que está no jardim; o cavalo que está no campo; o modo como a cidade está disposta, e tudo porque se curvam como as mulheres idosas que não
desviam os olhos da peça que costuram. Todavia, eu vi a vida em blocos, substancial, enorme; as suas ameias e torres, fábricas e gasômetros, uma habitação que vem
sendo construída ao longo dos tempos, seguindo um padrão hereditário. Trata-se de coisas que permanecem concretas, definidas, indissolúveis, pelo menos para mim.
Não sou sinuosa nem suave; sento-me entre vós enfrentando a vossa apatia com a minha dureza, destruindo os frêmitos das asas cinzentas das vossas palavras, servindo-me
para isso da raiva esverdeada dos meus olhos claros.
Acabamos por nos defrontar. Trata-se do prelúdio necessário; da saudação dos velhos amigos.
– O ouro desapareceu por entre as árvores – disse Rhoda –, atrás delas só se vê uma mancha verde, comprida como uma lâmina das facas que vemos nos sonhos,
ou uma qualquer ilha onde ninguém pisa. Os carros que descem a avenida começam a escassear. Os amantes podem agora ocultar-se sob o manto da escuridão; os troncos
das árvores parecem inchados, obscenos mesmo, pois estão cheios de amantes.
– Houve um tempo em que as coisas eram diferentes – disse Bernard. – Tempos em que podíamos romper as amarras se assim o desejássemos. Quantos telefonemas,
quantos postais são agora precisos para romper este buraco no qual nos juntamos, unidos, em Hampton Court? Com que rapidez a vida desliza de Janeiro a Dezembro!
Somos arrastados pela corrente composta por toda uma série de coisas que se tornaram demasiado óbvias, familiares, e que já não projectam sombra; não fazemos comparações;
pouco pensamos a nosso respeito; e é neste estado de inconsciência que nos libertamos da fricção, rompendo as algas que haviam entupido os desembocadouros dos canais
subterrâneos. Para que possamos apanhar o comboio que parte de Waterloo, temos de saltar e de nos elevar nos ares como se fôssemos peixes. E, não importa o quão
alto saltemos, acabamos sempre por voltar a mergulhar nas águas. Nunca entrarei naquele navio com destino aos mares do Sul. Roma marcou o limite das minhas viagens.
Tenho filhos e filhas. Semelhante à peça de um puzzle, pertenço a um determinado lugar.
No entanto, trata-se apenas do meu corpo (este homem envelhecido a quem chamam Bernard) que se fixou de forma irrevogável – pelo menos é isso que desejo acreditar.
Penso agora de forma mais desinteressada do que a que me caracterizava na juventude, e, para me descobrir, tenho de ir cada vez mais fundo. “Olha, que será isto?
E isto? Será que dará um belo presente? Será que é tudo?”, e assim por diante. Sei agora o que está dentro dos embrulhos e não me importo muito. Atiro os pensamentos
aos quatro ventos, tal como um homem atira as sementes ao ar, as quais caem por entre a luz do sol-poente, indo cair na terra previamente arada, brilhante e comprimida,
onde nada se encontra.
Uma frase. Uma frase imperfeita. E o que são frases? Deixaram-me pouco para colocar no tampo da mesa, junto à mão de Susan; pouco para tirar do bolso, junto
com as credenciais do Neville. Não sou nenhum perito em leis, medicina ou economia. Semelhante a uma palha rodeada de água, estou envolvido em frases fosforescentes,
emito brilhos. E, sempre que falo, todos sentem: Estou aceso. Estou a brilhar. Quando nos encontrávamos à sombra dos ulmeiros, nos campos de jogos, os rapazinhos
costumavam pensar que as frases que saíam dos meus lábios aos borbotões eram bastante boas. Eles próprios se elevavam; também eles se escapavam com as minhas frases.
Porém, eu definho na solidão. Esta é a minha ruína.
Vagueio de casa em casa como os frades da Idade Média que enganavam as raparigas e as mulheres casadas com contas e baladas. Sou um viajante, um bufarinheiro,
pagando com uma caução a hospitalidade que me oferecem; sou um convidado fácil de agradar; alguém que ora dorme no melhor quarto da casa, na cama de dossel, ora
passa a noite no estábulo, deitado num molho de feno. Não me importo com as pulgas, o mesmo se passando com o toque da seda. Tenho uma percepção demasiado clara
da perenidade da vida e das tentações que a caracterizam para impor proibições.
Apesar de tudo, não sou tão tolerante como vos pareço, a vós, que me julgam pela fluência com que me exprimo. Trago escondido na manga um punhal envenenado
com desprezo e austeridade. Contudo, estou sempre pronto a me dispersar. Invento histórias. Construo brinquedos a partir do nada. Há uma rapariga sentada à porta
de uma vivenda; está à espera; de quem? Seduzida ou não? O director descobre que há um buraco no tapete. Suspira. A esposa, passando os dedos pelas ondas do cabelo,
ainda abundante, reflecte – e assim por diante. O ondular de mãos, as hesitações ocorridas nas esquinas, alguém que deixa cair o cigarro na valeta – tudo isto são
histórias. Mas qual delas é a verdadeira? Isso não sei. É por isso que penduro as frases, como se estivessem num roupeiro à espera que alguém as use. E assim, esperando,
especulando, tomando nota disto ou daquilo, não me agarro à vida. Serei arrastado como uma abelha que zumbe junto aos girassóis. A minha filosofia, sempre a se acumular,
a crescer de momento a momento, espraia-se em simultâneo nas mais diversas direcções. Porém, o Louis, austero, se bem que de olhar selvagem, no sótão, no escritório,
chegou a conclusões inalteráveis sobre a verdadeira natura daquilo que há a saber.
– Quebrou-se – disse Louis. – A teia que tentei tecer acabou de se quebrar. Foram as vossas gargalhadas, a vossa indiferença, e também a vossa beleza, que
a quebraram. A Jinny partiu o fio há muitos anos, quando me beijou no jardim. Os gabarolas troçavam de mim na escola por falar com sotaque australiano, e também
o partiram. É este o significado, disse, e foi então que um baque me fez parar – vaidade. Escutem, disse, escutem o rouxinol que canta mesmo aos vossos pés; as conquistas
e as migrações. Acreditem e é então que sou como que posto de lado. Opto por viajar por sobre telhas partidas e vidros estilhaçados. São muitas as luzes que tombam
sobre mim, tornando estranho um simples leopardo. Este momento de reconciliação, quando nos unimos mais uma vez, este momento nocturno, com o seu vinho e folhas
tremulas, e jovens subindo a margem do rio, vestidos de flanela e transportando almofadas, dizia, este momento está obscurecido com as sombras dos calabouços e das
torturas praticadas por alguns homens contra outros homens. Tenho os sentidos tão imperfeitos que não consigo ocultar os ataques bastante graves que, em termos racionais,
vou fazendo contra todos nós, mesmo quando aqui estamos sentados. Pergunto a mim mesmo e à ponte qual será a solução. Como poderei reduzir estas vertigens, estas
aparições bailarinas, a uma linha capaz de as unificar? E é nisto que vou pensando. Entretanto, vocês observam com malícia o modo como comprimo os lábios, as minhas
faces macilentas, e as rugas que se formam na minha testa.
Todavia, peço-vos também para repararem na bengala e no colete. Herdei uma secretária de mogno e um gabinete repleto de mapas. Os nossos navios alcançaram
uma reputação invejável devido às suas cabinas luxuosas. Fornecemos piscinas e ginásios. O colete que uso é branco e consulto sempre a agenda antes de aceitar qualquer
compromisso.
É este o escudo e a forma irônica através da qual espero desviar as atenções de todos vós da minha alma trêmula, meiga, e infinitamente jovem e desprotegida.
O certo é que sou sempre o mais novo; o que se surpreende da forma mais ingênua; o que se oferece para ir à frente, mas sempre com medo de parecer ridículo – não
vá ter o nariz sujo ou um botão desapertado. Sofro em mim todas as humilhações. Apesar disso, também consigo ser impiedoso, duro. Não entendo quando vos ouço dizer
que a vida vale a pena ser vivida. As vossas pequenas alegrias, os vossos transportes infantis, os quais ocorrem quando a chaleira ferve, quando a brisa levanta
o lenço da Jinny e o faz flutuar como se de uma teia de aranha se tratasse, são para mim idênticos a véus de seda, com os quais se tenta tapar os olhos dos touros
enraivecidos. Condeno-vos. Porém, o meu coração precisa de vós. Convosco seria até capaz de atravessar as fogueiras da morte. Mesmo assim, sou mais feliz quando
estou só. Adoro vestir de ouro e púrpura. Apesar disso, prefiro olhar os contornos das chaminés; os gatos coçando os flancos escanzelados; as janelas partidas; e
o ruído duro e seco provocado pelos sinos que tocam numa qualquer capela de tijolo.
– Vejo o que tenho à frente – disse Jinny. – Este lenço, estas manchas cor de vinho. Este copo. Esta jarra cor de mostarda. Esta flor. Gosto do que pode ser
tocado, saboreado. Gosto da chuva depois de ela se ter transformado em neve e ganho gosto. E, dado ser mais brusca e muito mais corajosa que todos vós, não considero
a minha beleza mesquinha, caso contrário queimar-me-ia. Assumo-a por inteiro. É feita de carne; é feita de matéria. Só conheço a imaginação do corpo. As suas visões
não são tão finas nem tão imaculadamente brancas como as do Louis. Não gosto de gatos magros e das tuas chaminés rachadas. As belezas desagradáveis dos teus telhados
repelem-me. Delicio-me com a visão de homens e mulheres de uniforme, perucas e capas, chapéus de coco e camisolas pólo, e a incrível variedade de vestidos femininos
(reparo sempre em todas as roupas). É com eles que me misturo, que entro e saio de salas, salões, deste ou daquele lugar. É com eles que vou para toda a parte. Este
homem levanta o casco de um cavalo. Aquele abre e fecha as gavetas onde guarda as suas colecções. Nunca estou só. Vivo rodeada por indivíduos que me são semelhantes.
A minha mãe deve ter seguido o tambor, o meu pai o mar. Sou como um cachorro que desce a rua atrás da banda do regimento, mas que pára para cheirar o tronco de uma
árvore, esta ou aquela mancha castanha, e que de súbito corre atrás de um rafeiro qualquer, acabando por levantar uma pata ao sentir o cheiro a carne que lhe chega
do talho. As minhas viagens levaram-me a locais estranhos. Foram muitos os homens que passaram através do muro e vieram ter comigo. Bastou-me levantar a mão. Em
linha recta, semelhantes a dardos, vieram encontrar-se comigo no local devido, talvez uma cadeira colocada na varanda, talvez uma loja de esquina. Os tormentos,
as divisões típicas foram por mim resolvidas noite após noite, às vezes apenas devido ao toque de um dedo por baixo da toalha, o meu corpo tornou-se tão fluido,
que basta o toque de um dedo para se transformar numa única gota, a qual se enche, estremece, reluz, e acaba por cair, em êxtase.
Tenho-me sentado frente ao espelho do mesmo modo que vocês se sentam a escrever e a fazer contas. Assim, em frente ao espelho que se encontra no templo constituído
pelo meu quarto, analisei os olhos e o queixo que nele se reflectiam; aqueles lábios que se abrem de mais, revelando grande parte das gengivas. Tenho olhado. Tenho
reparado. Tenho escolhido aquilo que mais me convém: o branco ou o amarelo, o que brilha e o que é baço, as curvas e as linhas rectas. Sou volátil para este, rígida
para aquele, angulosa como um cristal de neve prateado, ou voluptuosa como uma chama púrpura. Projectei-me com toda a violência possível, como se fosse um chicote.
A camisa dele, ali, naquele canto, começou por ser branca; depois vermelha; fomos envolvidos pelo fumo e pelas chamas; depois de uma confrontação furiosa – muito
embora mal tenhamos levantado a voz, sentado no tapete em frente à lareira, à medida que murmurávamos os nossos segredos mais íntimos de forma a os transformar em
conchas, evitando assim que fossem escutados, mesmo depois de eu ter ouvido o cozinheiro e de certa vez termos pensado ser o tiquetaque do relógio uma bola de futebol
– transformamo-nos em cinzas, nada deixando que pudesse servir de relíquia, nenhum osso por queimar, nenhuma madeixa de cabelo susceptível de ser guardada. O meu
cabelo começou a embranquecer; estou a definhar; mas continuo a sentar-me frente ao espelho em pleno dia, e reparo com exactidão no meu nariz, queixo, e lábios que
se abrem de mais e revelam grande parte das gengivas. Mesmo assim, não tenho medo.
– Quando vinha da estação – disse Rhoda –, vi candeeiros e árvores que ainda não deixaram cair as folhas. Estas talvez me tivessem podido ocultar. Contudo,
e ao contrário do que era costume, não me escondi atrás delas. Ao invés de começar a andar em círculos com vista a evitar o choque provocado pela sensação, de pronto
caminhei ao vosso encontro. Mas claro que isto só foi possível porque ensinei o meu corpo a desempenhar um certo truque. Mesmo assim, este não resulta no que respeita
ao nível inferior; tenho medo, odeio, amo, invejo-vos e desprezo-vos, mas nunca me sinto feliz por vos encontrar. Quando vinha da estação, recusando-me a aceitar
a sombra das árvores e dos postes, apercebi-me através dos vossos casacos e chapéus de chuva, e isto mesmo à distância, o quanto vocês estão embebidos numa substância
constituída pela união de uma série de momentos repetidos; do modo como se comprometem, tomam atitudes, têm filhos, autoridade, fama, amor, amigos. Pela parte que
me toca, nada tenho, nem sequer um rosto.
Aqui, nesta sala de restaurante, vocês vêem as hastes dos veados que estão penduradas na parede e também os copos; os saleiros; as manchas amarelas que enchem
a toalha. “Criado!” exclama o Bernard. “Pão!”, grita a Susan. E o certo é que o criado nos vem trazer o pão. Mas eu encaro os contornos do copo como se pertencessem
a uma montanha, e vejo apenas alguns galhos das hastes, e até mesmo aquele jarro se me apresenta como uma fenda na escuridão. Não preciso dizer que tudo isto me
fascina e horroriza. As vossas vozes lembram o som das árvores que se quebram na floresta. Sinto o mesmo em relação aos vossos rostos, com as suas saliências e covas.
Como são belos quando vistos a uma certa distância e no escuro, imóveis, recortando-se contra a vedação de uma praça qualquer! Atrás de vocês existe um crescente
de espuma branca, e os pescadores que trabalham na beira do mundo lançam as redes para depois as recolherem. O vento agita as folhas mais altas das árvores primordiais.
(Contudo, estamos sentados em Hampton Court.) Os gritos dos papagaios quebram o silêncio da selva. (É neste ponto que os eléctricos arrancam.) A andorinha mergulha
as asas nos lagos nocturnos. (Aqui fala-se.) É esta a circunferência que tento agarrar assim que nos sentamos. É por isso que tenho de me penitenciar em Hampton
Court, e precisamente às sete e meia.
Mas, e dado que necessito destes pães e das garrafas de vinho, que os vossos rostos, mesmo com as covas e saliências que lhes são características, são belos,
e não é permitido à mancha amarela existente na toalha que alastre os seus círculos de compreensão (pelo menos é isso que sonho durante a noite, quando o leito onde
durmo flutua, acabando por cair sempre na terra) de forma a que estes possam abarcar todo o mundo, tenho de me sujeitar a todas as farsas do ser. Vejo-me obrigada
a fazê-lo quando me atiram com os filhos, os poemas, as frieiras, ou seja lá aquilo que fazem e de que têm de aceitar as consequências. Contudo, ainda não me desfiz.
Depois de todos estes chamamentos, destes ataques e buscas, deixar-me-ei cair no meio das chamas, passando primeiro por esta gaze muito suave. E vocês não me ajudarão.
Mais cruéis que qualquer torturador, deixar-me-ão cair, desfazendo-me em mil pedaços durante a queda. Mesmo assim, há momentos em que as paredes da mente se tornam
menos espessas; em que nada fica por absorver, de tal forma que seria capaz de imaginar que temos capacidade para soprar uma bola de sabão de tais dimensões que
o Sol nela se poderia pôr e nascer, e que poderíamos roubar o azul do meio-dia e o negro da meia-noite, e escaparmo-nos daqui de uma vez por todas.
– O silêncio vai caindo gota a gota – disse Bernard. – Forma-se no ponto mais alto da mente e vai-se acumulando em poças. Só, só, para sempre só, escutar o
silêncio cair e estender-se em círculos até aos limites extremos. Saciado e farto, sólido devido à felicidade característica da meia-idade, eu, a quem a solidão
destrói, deixo cair o silêncio, gota a gota.
Porém, os pingos de silêncio cavam-me abismos no rosto, desgastam-me o nariz, tal como acontece com os bonecos de neve quando apanham chuva. À medida que o
silêncio cai, vou-me dissolvendo, perco as feições, e mal me consigo distinguir dos outros. O facto também não interessa. Ao fim e ao cabo que é que interessa? Jantamos
bem. O peixe, as costeletas de veado e o vinho, tudo isto contribuiu para tornar rombo o dente afiado do egotismo. A ansiedade repousa. O mais vaidoso de todos nós,
talvez o Louis, já não se importa com o que as pessoas pensam. Cessaram as tonturas características do Neville. Os outros que prosperem – é isso que ele pensa. A
Susan escuta a respiração regular dos filhos, agora adormecidos. “Durmam, durmam”, murmura. A Rhoda inclinou os barcos na direcção da praia. Não lhe interessa saber
se se afundaram ou estão a salvo. Estamos prontos a aceitar de forma quase que imparcial toda e qualquer sugestão que o mundo nos possa oferecer. Reflicto agora
sobre a possibilidade de a Terra ser apenas uma pedrinha arrancada à superfície do Sol, e de não existir vida em lugar algum nos abismos do espaço.
– Neste silêncio – disse Susan –, parece que nenhuma folha vai cair, nem nenhuma ave levantar voo.
– Tal como se o milagre tivesse acontecido – disse Jinny –, e a vida se condensasse aqui e agora.
– E – disse Rhoda –, já não mais houvesse para viver.
– Mas – disse Louis –, escutem como o mundo se move nos abismos do espaço infinito. Ouçam-no rugir; a faixa iluminada da história deixou de existir, e com
ela os nossos reis e rainhas; deixamos de ser; a nossa civilização; o Nilo; a vida. Dissolveram-se as gotas que nos conferiam individualidade; extinguimo-nos; estamos
perdidos no abismo do tempo, na escuridão.
– O silêncio cai; o silêncio cai – disse Bernard. – Mas agora escutem: tiquetaque; silvo após silvo; o mundo fez-nos de novo regressar a ele. Durante breves
instantes, quando passamos para lá da vida, ouvi rugir os ventos da escuridão. Foi então que tiquetaque (o relógio); então, os silvos (os automóveis). Aportamos,
estamos na praia; somos seis indivíduos sentados à mesa. É a imagem do meu nariz que mo lembra. Levanto-me. Luta! Luta!, grito, lembrando-me da forma do nariz que
tenho, e acabo por bater com a colher na mesa.
– Temos de nos opor a este caos ilimitado – disse Neville –, a esta imbecilidade informe. Pelo simples facto de estar a fazer amor com uma qualquer criadita
debaixo de uma árvore, aquele soldado é mais digno de admiração que todas as estrelas. Porém, há momentos em que uma simples estrela a brilhar no céu me faz pensar
que o mundo é belo, e que nós, vermes, deformamos as árvores com a nossa luxúria.
– E contudo, Louis – disse Rhoda –, o silêncio dura pouco. Já começaram a alisar os guardanapos que estão junto aos pratos. “Quem lá vem?”, pergunta a Jinny,
e o Neville suspira, pois sabe que não pode ser o Percival. A Jinny tirou o espelho da bolsa. Observando o rosto com o olhar de um artista, passa a borla de pó-de-arroz
pelo nariz, e dá aos lábios o tom de vermelho que eles precisam. A Susan, a quem a visão destes preparativos provoca um sentimento onde o medo e o desprezo se misturam,
aperta o botão superior do casaco, de novo o desapertando. Para que se estará ela a preparar? Sim, para alguma coisa, mas para alguma coisa diferente.
– Estão a falar uns com os outros – disse Louis. – Dizem: Está na hora. Continuo vigoroso. O meu rosto sobressairá contra a escuridão do espaço infinito. Não
concluem as frases. Não param de repetir que está na hora. Os jardins fecharão. E, Rhoda, ao irmos com eles, ao nos deixarmos arrastar pela sua corrente, talvez
nos deixemos ficar um pouco para trás.
– Quais conspiradores, temos segredos a partilhar – disse Rhoda.
– É verdade – disse Bernard –, sinto-o cada vez com mais segurança à medida que vamos descendo a avenida, que houve um rei que caiu do cavalo precisamente
neste ponto, depois de o animal ter tropeçado num montículo de terra.
Contudo, não deixa de ser estranho situar nos abismos do espaço infinito uma figurinha com um bule dourado na cabeça. É com facilidade que se recupera a crença
nas figuras, mas não naquilo que elas colocam na cabeça. O nosso passado inglês, uma réstia de luz. É então que as pessoas colocam um bule na cabeça e dizem: “Sou
Rei”. Não pode ser. Enquanto caminho, tento recuperar o sentido do tempo, mas o fluxo de escuridão que me passa frente aos olhos impede-me de o fazer.
Este palácio parece ser tão leve como uma nuvem. Colocar reis em tronos e pôr-lhes coroas na cabeça – isso são apenas ilusões. E nós, caminhando os seis lado
a lado, que podemos opor a esta inundação, nós, que só temos uma pequena chama a que chamamos cérebro e sentimentos? Afinal, que é que permanece. As nossas vidas
também vão escorrendo pelas avenidas mal iluminadas, para lá do tempo, sem que sejam identificadas.
Certa vez, o Neville atirou-me um poema. Ao sentir uma súbita convicção de imortalidade, disse: “Também sei o que Shakespeare sabia”. Mas até isso desapareceu.
– De forma ridícula, injustificável, o tempo regressa à medida que avançamos – disse Neville. – A máquina funciona. O tempo fez com que o portão se tornasse
velho. Quando comparados com aquele cão que, todo empertigado, satisfaz as suas necessidades, trezentos anos nada parecem ser. O rei Guilherme, usando uma peruca,
monta a cavalo, e as damas da corte varrem o solo com as suas saias bordadas. Começo a convencer-me que o destino da Europa é de importância vital, e que, por muito
ridículo que possa parecer, tudo depende da batalha de Blenheim. Sim, declaro eu no momento em que atravessamos este portão, estamos no momento presente. De súbito,
transformei-me no rei Jorge.
– À medida que descemos a avenida – disse Louis –, eu apoiando-me suavemente na Jinny, o Bernard de braço dado com o Neville, e a Susan de mão dada comigo,
sinto dificuldade em não chorar, em não imaginar que somos crianças e que rezamos para que Deus vele por nós durante o sono. É tão doce cantar em conjunto, de mãos
dadas e com medo do escuro, enquanto a Miss Curry toca harmônica!
– Os portões de ferro recuaram – disse Jinny. – As mandíbulas do tempo pararam. Graças ao pó-de-arroz, ao rouge, e aos lenços finos, conseguimos derrotar os
abismos do espaço.
– Prendo, seguro-me com força – disse Susan. – Não largo esta mão, não importa de quem ela seja, e sinto amor, sinto ódio; não interessa saber qual ao certo.
– Somos possuídos por um sentimento de calma, da dissipação – disse Rhoda – e todos desfrutamos deste alívio momentâneo (não é muito frequente deixarmos de
sentir ansiedade), quando as paredes da mente se tornam transparentes. O palácio de Wren, semelhante ao quarteto que foi tocado por todas aquelas pessoas secas que
se encontravam nos assentos, é um rectângulo. Coloca-se um quadrado em cima do rectângulo e diz-se: É aqui que moramos. A estrutura é agora visível. Pouco ficou
de fora.
– A flor – disse Bernard –, o cravo vermelho que estava em cima da mesa do restaurante na noite em que jantamos com o Percival, transformou-se numa flor composta
de seis lados, de seis vidas.
– Numa luz misteriosa – disse Louis –, reflectida contra esses teixos.
– Construída com muita dor, com muitas pinceladas – disse Jinny.
– Casamentos, mortes, viagens, amizades – disse Bernard –, campo e cidade; filhos e tudo o mais; uma substância composta por muitos ângulos, feita a partir
desta escuridão; uma flor multifacetada. O melhor será pararmos por alguns instantes e contemplarmos o que fizemos. A nossa obra que brilhe, que incida nos teixos.
Uma vida. Ali. Acabou. Desapareceu.
– Foram-se todos embora – disse Louis. – A Susan com o Bernard. O Neville com a Jinny. Tu e eu, Rhoda, paramos por instantes junto a esta urna de pedra. Que
tipo de canto iremos escutar, agora que estes casais se embrenharam nos bosques e a Jinny, gesticulando com as mãos cobertas pela pele das luvas, tenta fazer crer
que está a reparar nos nenúfares, e a Susan, que sempre amou o Bernard, lhe diz: A minha vida arruinada, desperdiçada. E o Neville, segurando a pequena mão da Jinny,
a mão cujas unhas têm a cor das cerejas, grita, talvez que influenciado pelo lago e pelo luar: Amor, amor, ao que ela responde imitando a ave: Amor, amor. Que tipo
de canto escutamos.
– E lá desaparecem eles em direcção ao lago – disse Rhoda. – Avançam por sobre a relva com passos furtivos, se bem que com a segurança de quem nos pedem um
antigo privilégio que lhes é devido, o de não serem perturbados. A corrente da alma escoa-se naquela direcção; não podem fazer outra coisa senão partir, deixando-nos
sós. A escuridão envolveu-lhes os corpos. Que canto estaremos a ouvir, o do mocho, o do rouxinol, ou o da carriça? O barco a vapor assobia; brilham os fios dos eléctricos;
as árvores vergam-se e baloiçam com gravidade. Há um fulgor a pairar sobre Londres. Vê-se uma mulher idosa a caminhar devagar nesta direcção, e também um homem,
um pescador que se atrasou, e que desce o terraço com a cana de pesca. Nada nos pode escapar, quer seja som ou movimento.
– Uma ave regressa ao ninho – disse Louis. – A noite fê-la abrir os olhos, e ela examina os arbustos mais uma vez antes de adormecer. Como a deveremos montar,
a mensagem confusa e complexa que nos enviam, e não apenas eles, mas também os mortos, rapazes e raparigas, mulheres e homens adultos, que, sob o reinado deste ou
daquele rei, por aqui passaram.
– Caiu um peso na noite – disse Rhoda –, o que a fez afundar. As árvores parecem maiores devido a uma sombra que não é a que lhes está atrás. Ouvimos os ruídos
que nos chegam de uma cidade cercada quando os turcos estão esfomeados e de mau humor. Ouvimo-los gritar num tom agudo: Abram, abram.
Ouçam como os eléctricos chiam e os fios de electricidade brilham. Escutamos as faias e os vidoeiros a elevar os ramos, tal como se a noiva tivesse deixado
cair a camisa de noite e chegasse à porta dizendo: Abre, abre.
– Tudo parece estar vivo – disse Louis. – Esta noite não consigo ouvir a morte em parte alguma. Poder-se-ia pensar que a estupidez estampada no rosto daquele
homem e a idade daquela mulher teriam força suficiente para resistir ao feitiço e trazer a morte. Mas onde é que ela está esta noite? Toda a crueza, contratempos
e fins, se estilhaçaram contra esta corrente azul, orlada a vermelho, a qual, depois de ter arrastado o maior número possível de peixes até à praia, acaba por se
quebrar aos nossos pés.
– Se pudéssemos formar uma torre humana, se pudéssemos avistar as coisas de um ponto suficientemente alto – disse Rhoda –, se pudéssemos permanecer intocáveis
e sem qualquer apoio, mas tu, perturbado por toda uma série de sons distantes onde se misturam elogios e gargalhadas, e eu, que me ressinto das noções de compromisso,
de bem e de mal, confiamos apenas na violência e na solidão da morte, e é isso que nos divide.
– Estamos divididos para sempre – disse Louis. – Sacrificamos os abraços por entre os fetos e o amor, o amor, o amor junto ao rio. Fizemo-lo quando, semelhantes
a conspiradores que se afastam para partilhar um segredo, nos juntamos ao lado da urna. Mas olha, repara, há uma onda a rasgar o horizonte. A rede vai-se levantando
cada vez mais. Está quase à superfície. As águas são salpicadas por pequenos peixes, trêmulos e prateados. Vejo aproximarem-se algumas figuras. Serão homens ou mulheres?
Trazem ainda as vestes bordadas características da corrente onde estiveram mergulhadas.
– Agora – disse Rhoda –, ao passarem por aquela árvore, recuperam o tamanho natural. Trata-se apenas de homens e de mulheres. O fascínio e o encanto desaparecem
à medida que despem os brocados. A piedade regressa quando os vejo emergir ao luar, semelhantes às relíquias de um exército que, todas as noites (aqui ou na Grécia),
sai para lutar, regressando sempre com os rostos desolados e cobertos de feridas. A luz acaba por incidir sobre eles. Têm faces. Transformam-se na Susan e no Bernard,
na Jinny e no Neville, em gente que conhecemos. Como as coisas encolhem! Como tudo se encarquilha! Que humilhação! Sou percorrida pelos velhos arrepios, ódios e
tremores, ao sentir que os anzóis que nos lançam me prendem a um único ponto. Contudo, basta-lhes falar para que as primeiras palavras por eles pronunciadas e os
gestos que as acompanham me desviem do objectivo a que me propusera inicialmente.
– Algo tremeluz e dança – disse Louis. – A ilusão regressa, à medida que vão descendo a avenida. Volto-me a interrogar.
Que será que penso de vós? Que pensarão vocês de mim? Quem sois vós? Quem sou eu? – tudo isto faz com que sobre nós volte a pairar um ar algo constrangido,
e o pulso volta a bater mais depressa, os olhos iluminam-se, e toda a insanidade da existência pessoal, sem a qual a vida cairia redonda e morreria, tudo isto recomeça.
Eles estão sobre nós. O sol poente paira por sobre esta urna; abrimos caminho até à corrente característica do mar, violenta e cruel. O Senhor ajuda-nos a representar
o papel que nos compete quando saudamos a sua volta, a volta da Susan e do Bernard, a volta do Neville e da Jinny.
– Destruímos algo com a nossa presença – disse Bernard. – Talvez um mundo.
– E contudo, mal podemos respirar de cansados que estamos – disse Neville. – Encontramo-nos naquele estado mental exausto e passivo, quando apenas nos apetece
voltar ao corpo da mãe, do qual fomos separados. Tudo o resto é desagradável, forçado e cansativo. A esta luz, o lenço amarelo da Jinny adquire uma coloração parda.
A Susan tem os olhos mortiços. É quase impossível distinguirem-nos do rio. A ponta de um cigarro é a única coisa que nos confere algum ênfase. A tristeza mancha
o nosso contentamento por vos termos abandonado, por termos rasgado o tecido; possuídos pelo desejo de espremer um sumo ainda mais negro e amargo, mas igualmente
doce. No entanto, agora estamos estoirados.
– Depois do fogo – disse Jinny –, nada mais temos para guardar.
– Mesmo assim – disse Susan –, continuo de boca aberta, como uma qualquer jovem ave insatisfeita à qual algo tenha escapado.
– Antes de partirmos – disse Bernard –, talvez seja melhor ficarmos juntos por mais um momento. Vamos passear junto ao rio na mais completa solidão. Está quase
na hora de deitar. As pessoas já foram para casa. É bastante reconfortante observar as luzes apagarem-se nos quartos dos pequenos comerciantes que vivem do outro
lado do rio. Ali está uma, ali outra. Quais terão sido os lucros por eles hoje obtidos? Apenas o suficiente para pagar a renda, a electricidade, a comida e a roupa
dos filhos. Mas apenas o suficiente. Como é grande a sensação de que a vida é tolerável que nos é dada pelas luzes dos quartos dos pequenos lojistas! Quando chega
o sábado, o mais provável é terem apenas dinheiro para pagar quatro entradas de cinema. Talvez que antes de apagarem as luzes se dirijam até ao pequeno jardim que
possuem para olhar o coelho gigante que se encontra dentro da capoeira de madeira. Trata-se do coelho que comerão ao jantar de sábado. Depois apagam as luzes. Depois
adormecem. E, para milhares de pessoas, dormir não passa de algo quente e silencioso, de um prazer momentâneo composto por um qualquer sonho fantástico. Enviei a
carta para o jornal de domingo, pensa o merceeiro. Suponhamos que ganho quinhentas libras no jogo de futebol. E, claro, mataremos o coelho. A vida é agradável. A
vida é boa. Enviei a carta. Vamos matar o coelho. Só então adormece.
E este tipo de coisas continua. Ouço um som semelhante ao deslizar de vagões nos carris. Trata-se da ligação feliz que existe entre os acontecimentos que se
sucedem na vida de cada um. Toque, toque, toque. Dever, dever, dever. Deve-se partir, deve-se dormir, deve-se levantar – trata-se daquela palavra sóbria e piedosa
que pretendemos insultar, que apertamos com força contra o coração, e sem a qual não existiríamos. Como adoramos o som dos vagões que vão batendo uns contra os outros
ao deslizar nos carris!
Não muito longe do rio, ouço pessoas cantar. Trata-se dos rapazes gabarolas que regressam em grandes grupos depois de terem passado o dia no convés de um vapor
apinhado. Continuam a cantar da mesma forma de sempre quando atravessam o pátio nas noites de Inverno, ou quando as janelas se abrem durante o Verão, embebedando-se,
partindo a mobília, vestidos com pequenas capas às riscas, olhando na mesma direcção sempre que o eléctrico contorna a esquina. E eu que tanto queria estar com eles!
Vamo-nos desintegrando com o coro, com o som da água a correr, e com o murmúrio suave da brisa. Vão ruindo pequenos pedaços de nós. Ah! Alguma coisa de muito
importante caiu ali. Já não me consigo manter inteiro. Gostaria de dormir. Todavia, temos de partir; de apanhar o comboio; de voltar para a estação – temos, temos,
temos. Somos apenas corpos que avançam lado a lado aos solavancos. Existo apenas na sola dos pés e nos músculos cansados das coxas. Parece que caminho há já várias
horas. Mas por onde? Não me consigo lembrar. Sou como um tronco que desliza suavemente por sobre uma qualquer queda de água. Não sou juiz. Ninguém me pede para dar
a minha opinião. A esta luz cinzenta, as casas e as árvores parecem todas a mesma coisa. Será aquilo um poste? Uma mulher a andar? Aqui é a estação, e se o comboio
me cortasse em dois, acabaria por voltar a me transformar num ser uno, indivisível. Porém, não deixa de ser estranho o facto de continuar a agarrar com firmeza o
bilhete de regresso de Waterloo, mesmo agora, mesmo quando estou a dormir.
O Sol acabara de se pôr. Era impossível distinguir o céu e o mar. Ao rebentar, as ondas espalhavam os seus leques brancos por sobre a praia, enviavam sombras
brancas para os recantos das grutas, e acabavam por recuar, sussurrando por sobre o cascalho.
As árvores abanavam os ramos, enchendo o chão de folhas. Estas assentavam com a maior das composturas no local exacto onde acabariam por apodrecer. O barco
partido que antes lançara raios vermelhos projectava agora sombras negras e cinzentas no jardim. Manchas negras escureciam os túneis entre os caules. O tordo calou-se
e o verme voltou ao buraco estreito onde habitava. De vez em quando, uma palha esbranquiçada e vazia era soprada de um qualquer velho ninho e caía nas ervas escuras,
por entre as maçãs podres. A luz deixara de incidir na parede da arrecadação, e a pele da cobra continuava a abanar, presa por um prego. Dentro de casa, todas as
cores haviam alagado as margens que as continham. Até mesmo as pinceladas mais definidas estavam como que inchadas; armários e cadeiras fundiam as respectivas massas
castanhas até estas constituírem uma enorme obscuridade. A distância que separava o tecto do chão estava coberta por vastas cortinas escuras. O espelho estava tão
pálido como a entrada de uma gruta oculta por trepadeiras.
Esvaíra-se a solidez das montanhas. Luzes passageiras projectavam feixes triangulares por entre estradas invisíveis e afundadas, mas aquelas não encontravam
eco entre as asas dobradas das montanhas, e não se escutava qualquer outro som para além do grito de uma qualquer ave procurando uma árvore solitária. Na margem
do rochedo, sentia-se tanto o murmúrio do vento que passava por entre as florestas, como o das águas, arrefecidas em pleno oceano em milhares de copos cristalinos.
Tal como se o ar estivesse coberto de ondas sombrias, a escuridão alastrava, cobrindo casas, montanhas e árvores, da mesma forma que as vagas circulam em torno
de um navio afundado. A escuridão descia as ruas, rodopiando em volta de algumas figuras isoladas, envolvendo-as; apagando os casais agarrados à sombra dos ulmeiros
exuberantes na sua folhagem estival. As ondas de negrume rolavam pelos caminhos cobertos de erva e pela pele enrugada da turfa, envolvendo o espinheiro solitário
e as conchas de caracol vazias. Mais acima, a escuridão soprava ao longo das vertentes nuas das terras altas, chegando mesmo a alcançar os píncaros da montanha onde
a rocha dura está sempre coberta de neve, mesmo quando os vales se enchem de riachos, de folhas de videira, e também de raparigas que, sentadas em terraços e cobrindo
os rostos com leques, elevam os olhos para a neve. A escuridão tudo cobriu.
– Está na hora de resumir – disse Bernard. – Chegou a hora de te explicar o sentido da minha vida. Dado não nos conhecermos (se bem que me pareça já te ter
encontrado antes, a bordo de um navio que seguia para África), podemos falar com franqueza. Sinto-me possuído pela ilusão de que existe algo que adere durante alguns
instantes, é redondo, tem peso, profundidade, está completo. Pelo menos por agora, é assim que sinto a minha vida. Se fosse possível, seria este o presente que te
gostaria de oferecer. Arrancá-la-ia como quem arranca um cacho de uvas. Diria: “Toma. É a minha vida”.
Mas, infelizmente, não vês aquilo que vejo (este globo, cheio de figuras). Sentado à tua frente está um homem idoso bastante pesado, cheio de cabelos brancos.
Vês-me pegar no guardanapo e desdobrá-lo. Vês-me encher um copo de vinho.
E, atrás de mim, vês uma porta por onde as pessoas vão passando. Mas, para te dar a minha vida, para que a possas entender, tenho de te contar uma história
– e se elas são tantas, tantas –, histórias de infância, histórias do tempo da escola, de amores, casamentos, mortes, e assim por diante. Contudo, nenhuma é verdadeira.
Mesmo assim, iguais a crianças, vamos contando histórias uns aos outros, e, para as conseguirmos decorar, inventamos estas frases ridículas, rebuscadas, belas.
Estou tão cansado de histórias, tão cansado de frases que assentam tão bem! Para mais, detesto projectos de vida concebidos em folhas de blocos de apontamentos!
Começo a sentir saudades de um tipo de linguagem semelhante à que é usada pelos amantes, composta por palavras soltas e inarticuladas, semelhantes a pés arrastando-se
no caminho. Começo a procurar um conceito que esteja mais de acordo com os momentos de humilhação e triunfo com que sempre acabamos por nos deparar de vez em quando.
Deitado numa vala durante um dia de tempestade depois de ter estado a chover, vejo marcharem no céu nuvens grandes e pequenas. Nesses momentos, o que me delicia
é a confusão, o peso, a fúria e a indiferença. São nuvens que não param de mover e de se transformar; qualquer coisa de sulfuroso e sinistro, arqueado; ameaçador
até ao momento em que se estilhaça e desaparece, e lá estou eu, minúsculo, esquecido, na valeta. É nesses momentos que não consigo encontrar quaisquer vestígios
de história, de conceito.
Mas entretanto, enquanto comemos, o melhor será irmos virando estas cenas, tal como as crianças viram as páginas de um livro de gravuras e escutam a ama dizer,
ao mesmo tempo que aponta: “Aquilo é uma vaca. Aquilo é um barco”. Vamos virar as páginas, e, para tua alegria, acrescentarei alguns comentários nas margens.
No princípio, havia o quarto das crianças, com janelas que davam para um jardim, e, mais além, para o mar. Via qualquer coisa brilhante – sem dúvida que o
puxador dourado de um armário. Era então que Mrs. Constable elevava a esponja acima da cabeça, espremia-a, e tanto à esquerda como à direita da minha coluna se espalhavam
picadas de sensação. É por isso que, e desde que contenhamos a respiração, não mais deixamos de sentir estas picadas sempre que batemos contra uma cadeira, uma mesa,
uma mulher – ou mesmo se caminharmos pelo jardim e bebermos este vinho. De facto, sempre que passo por uma casa de campo onde a luz da janela indica que aí nasceu
uma criança, quase me sinto tentado a implorar que não espremam a esponja por sobre aquele novo corpo. Depois, havia o jardim e toda uma vasta panóplia de folhas
que pareciam tudo rodear; flores ardendo como chamas nas profundezas verdes; um rato escondido atrás de uma folha de ruibarbo; a mosca que não parava de zumbir junto
ao tecto do quarto, e um amontoado inocente de pratos com pão com manteiga. Todas estas coisas acontecem num segundo e duram para sempre. As faces começam por surgir
de forma indefinida. Saem como que dos cantos. “Olá”, diz uma delas, “aquela é a Jinny, Aquele o Neville. Lá está o Louis vestido com um fato de flanela azul e um
cinto de pele de cobra. Aquela é a Rhoda”. Esta tinha uma taça na qual fazia flutuar pétalas de flores brancas. Foi a Susan quem chorou no dia em que eu e o Neville
estávamos na arrecadação. O facto derreteu a minha indiferença. O mesmo não se passou com o Neville. “Sendo assim”, disse, “eu sou eu, e não o Neville”, o que foi
uma descoberta maravilhosa. A Susan chorou e eu segui-a. O lenço molhado e a visão das suas pequenas costas a subir e a descer como se de a alavanca de uma bomba
se tratasse, soluçando pelo que lhe fora negado, deixou-me com os nervos arrasados. “Não é para isso que nascemos”, disse, e sentei-me junto dela em cima de umas
raízes tão duras como esqueletos. Foi aí que me apercebi da presença daqueles inimigos que mudam, mas que estão sempre ali; as forças contra as quais lutamos. É
impensável deixarmo-nos levar de forma passiva. “É esse o teu curso, mundo”, diz alguém, “o meu é este”. Sendo assim, “o melhor é explorarmos tudo” gritei, e, levantando-me
de um salto, desci a encosta a correr junto com a Susan, tendo visto o rapaz que trabalhava nos estábulos andar de um lado para o outro com um enorme par de botas.
Mais abaixo, através das profundezas das folhas, os jardineiros varriam as folhas com as suas grandes vassouras.
Sentada, a dama escrevia. Fulminados, deixamo-nos ficar quietos como se estivéssemos mortos. Pensei: “Não posso interferir com o mais pequeno movimento destas
vassouras. Elas não param de varrer. Não se comparam à rigidez com que aquela mulher escreve. É estranho como não somos capazes de impedir os jardineiros de varrer
nem de desalojar uma mulher. Ficaram comigo toda a vida. É como se tivéssemos acordado em Stonehenge, rodeados por um círculo de pedras enormes, estes inimigos,
estas presenças. Foi então que um pardal levantou voo de uma árvore. E, dado estar apaixonado pela primeira vez na vida, construí uma frase – um poema a respeito
de um pardal – uma única frase, pois na minha mente havia-se aberto uma fenda, uma daquelas súbitas transparências através das quais tudo se vê. Era então que surgiam
mais travessas de pão com manteiga e mais moscas voando em círculos junto ao tecto, onde se amontoavam ilhas de luz, tremulas, opalinas enquanto os pingentes do
lustre pingavam gotas azuis, que se amontoavam a um canto da lareira. Dia após dia, sempre que nos sentávamos para lanchar, observávamos estes sinais.
Mas éramos todos muito diferentes. A cera – a cera virgem que cobre a espinha dorsal –, fundiu-se em caminhos diferentes para cada um de nós. Os grunhidos
do rapaz das botas a fazer amor com a criada por entre os arbustos; as roupas a secar estendidas na corda; o homem morto na valeta; a macieira iluminada pelo luar;
o rato coberto de vermes; o lustre a pingar azul – a nossa cera branca foi moldada e manchada de forma diferente por cada uma destas coisas. O Louis desgostou-se
com a natureza da carne humana; a Rhoda com a nossa crueldade; a Susan era incapaz de partilhar fosse o que fosse; o Neville queria ordem; a Susan amor; e assim
sucessivamente. Sofremos imenso quando nos tivemos de separar no plano físico.
Contudo, fui poupado a estes excessos e sobrevivi a muitos dos meus amigos (se bem que agora esteja gordo, grisalho, e tenha o peito um pouco atrofiado) precisamente
porque o que me delicia não é a imagem da vida vista a partir do telhado, mas sim da janela do terceiro andar. Não me interessa o que uma mulher pode dizer a um
homem, mesmo que ele seja eu. Assim sendo, por que razão me incomodavam na escola? Por que razão se metiam comigo? Havia o director, marchando na direcção da capela
como se comandasse um navio de guerra através de uma tempestade, dando ordens através de um megafone, pois as pessoas que ocupam lugares onde tenham de exercer autoridade
acabam sempre por se tornar melodramáticas – ao contrário do Neville e do Louis, não o odiava nem o venerava. Sempre que nos sentávamos na capela, eu tomava notas.
Viam-se ali pilares, sombras, placas de bronze invocando os mortos, rapazes passando cromos uns aos outros servindo-se do livro de orações como capa; o som de uma
bomba ferrugenta; o director a trovejar a respeito da imortalidade e do facto de termos de dali sair como homens; e o Percival a coçar a coxa. Tomei toda uma série
de notas para depois usar nas minhas histórias; desenhei quadros nas margens do bloco-notas, e assim me fui separando cada vez mais. Seguem-se duas ou três figuras
que vi.
Naquele dia, sentado na capela, o Percival não parava de olhar em frente. Tinha também o hábito de levar a mão à nuca. Todos os movimentos que fazia eram dignos
de nota. Todos levávamos as mãos às respectivas nucas – mas sem qualquer sucesso. Ele possuía o tipo de beleza que se defende de qualquer carícia. Dado não ser minimamente
precoce, lia tudo o que existia da nossa edificação sem fazer qualquer comentário, e pensava com aquela equanimidade (as palavras latinas surgem com naturalidade)
que só o podia preservar de tantos actos mesquinhos e humilhações, e também de pensar que os laçarotes que a Lucy usava no cabelo e as suas faces rosadas eram o
expoente da beleza feminina. Devido a estas defesas, o seu gosto acabou por se tornar requintadíssimo. Mas o melhor seria haver música, um qualquer canto feroz.
Devia entrar agora pela janela uma canção de caça, entoada por uma forma de vida rápida e impossível de apreender – um som que fizesse eco por entre as colinas,
acabando por esmorecer. Aqui o que é surpreendente, o que não podemos justificar, o que transforma a simetria em disparate – é isso que me vem à mente sempre que
penso nele. O pequeno instrumento de observação é desmontado. Os pilares desmoronam-se; o director desaparece; sou possuído por uma estranha exaltação. Encontrou
a morte numa corrida de cavalos, e, esta noite, enquanto descia Shaftesbury Avenue, aqueles rostos insignificantes e de contornos mal definidos que surgiam nas saídas
do metropolitano, muitos indianos obscuros, as pessoas que morrem devido à fome e à doença, as mulheres enganadas, os cães espancados e as crianças chorosas – todos
me pareciam ter sido roubados. Ele teria feito justiça. Tê-los-ia protegido. Por certo que aos quarenta anos teria chocado as autoridades. Nunca me ocorreu uma canção
de embalar que fosse capaz de o sossegar.
Mas o melhor será voltar a mergulhar a colher num outro objecto minucioso a que chamamos de forma optimista “a Personalidade de um amigo” – o Louis. Não tirava
os olhos do pregador. Parecia que todo o ser se lhe concentrava no aro das sobrancelhas. Tinha os lábios comprimidos; o olhar não se movia, mas era capaz de se iluminar
subitamente com uma gargalhada. Sofria de frieiras, um dos castigos para quem tem problemas de circulação. Infeliz, sem amigos, mesmo apesar de exilado, por vezes,
em momentos de confiança, era capaz de descrever o modo como as ondas varriam as praias da sua terra. O olho impiedoso da juventude fixava-se nas suas articulações
inchadas. Mesmo assim, não tínhamos qualquer problema em perceber o quanto ele era severo e capaz. Eram muitas as vezes em que, deitados à sombra dos ulmeiros, a
fingir que estávamos a ver o jogo de críquete, esperávamos a sua aparição, a qual raramente nos era concedida. Ressentíamo-nos do seu poder e adorávamos o Percival.
Formal, desconfiado, levantando os pés como se fosse um grou, mesmo assim corria a história de que partira uma porta ao murro. Porém, o cume da sua montanha era
demasiado despido, demasiado pedregoso para que este tipo de nevoeiro a ele aderisse. Não possuía aquelas ramificações que nos ligam aos outros. Permanecia isolado;
enigmático ; um erudito capaz daquela minuciosidade inspirada que tem em si qualquer coisa de formidável. As minhas frases (o modo como descrevia a Lua) não mereciam
a sua aprovação. Por outro lado, invejava-me quase até ao desespero pela facilidade por mim demonstrada em lidar com os criados. Não que não fosse capaz de se aperceber
das suas próprias falhas. Era qualquer coisa que andava a par com o seu respeito pela disciplina. Daí ter conseguido obter sucesso. Apesar de tudo, não teve uma
vida feliz. Mas reparem – os seus olhos vão-se tornando brancos, aqui, poisados na palma da minha mão. De súbito, a noção daquilo que as pessoas representam abandona-nos.
Devolvo-o ao lago, onde por certo adquirirá algum brilho.
Segue-se-lhe o Neville – deitado de costas, os olhos fitos no céu estival. Flutuava à nossa volta um pedaço de lanugem de cardo, assombrando de forma indolente
o recanto cheio de sol do pátio, e, se bem que nos escutasse, não estava totalmente longe. Foi graças a ele que aprendi algumas coisas sobre os clássicos latinos
sem nunca os ter lido, tendo também ganho o hábito de pensar – por exemplo, a respeito de crucifixos e de estes serem marcas do diabo – o que nos leva a ter uma
visão distorcida das coisas. Os nossos meios-amores e meios-ódios, e a ambiguidade por nós revelada a respeito de tudo isto, eram para ele insignificantes. O director
palavroso e baloiçante, o qual fiz sentar frente à lareira a abanar os braços, para ele nada mais era que um instrumento da inquisição. O facto espevitava-o com
um ardor que compensava a indolência característica dos homens que lêem Catulo, Horácio e Lucrécio, e, muito embora parecesse estar a dormitar sempre que assistia
a um jogo de críquete, o seu cérebro, semelhante à língua de um papa-formigas, rápida, hábil, pegajosa, vasculhava todas as curvas e contra-curvas daquelas frases
romanas, e nunca parava de procurar uma pessoa ao lado de quem se sentar.
E as saias compridas das mulheres dos professores passavam por nós com aquele ar ameaçador, e as mãos voavam-nos para os bonés. Éramos tomados por um enorme
aborrecimento, uma monotonia incrível. Nada, mas mesmo nada, quebrava com a barbatana o deserto plúmbeo das águas. Nunca acontecia nada capaz de levantar o peso
de uma monotonia tão intolerável. Os períodos sucediam-se. Crescíamos e mudávamos, pois o certo é que não passávamos de animais. Nem sempre estamos conscientes;
comemos e bebemos de forma automática. Não só existimos em separado mas também em bolhas de matéria impossíveis de diferenciar entre si. Como um todo, um grupo de
rapazes levanta-se e vai jogar críquete ou futebol.
Um exército marcha através da Europa. Reunimo-nos em parques e salões e opomo-nos a qualquer renegado (ao Neville, ao Louis e à Rhoda) que se atreve a ter
uma existência separada.
Sou feito de maneira tal, que, mesmo quando ouço uma ou duas melodias, por exemplo, quando o Neville ou o Louis cantam, não deixo de me sentir irresistivelmente
atraído pelo som do coro que entoa uma canção antiga, sem palavras e quase que despojada de sentido, a qual percorre todas as salas durante a noite; a que continuamos
a ouvir ribombar junto a nós à medida que os automóveis e os autocarros transportam as pessoas para os teatros. (Escutem; os carros precipitam-se para lá deste restaurante;
de vez em quando, no rio, há uma sirene que apita, o que indica a existência de um vapor dirigindo-se para o mar.) Se fosse num comboio e um caixeiro me oferecesse
um pouco de rapé, por certo que aceitaria. Gosto do aspecto copioso, uniforme, quente, não muito esperto mas extremamente fácil e bastante duro das coisas; do modo
como conversam os homens que frequentam os clubes e os bares; dos mineiros seminus – de tudo o que é directo e não tem outro fim em vista senão jantar, amar, fazer
dinheiro e dar-se mais ou menos bem com os outros; de tudo o que não acalenta grandes esperanças, ideias, ou qualquer coisa do gênero; de tudo o que só pretende
tirar bom proveito de si mesmo. Gosto de tudo isto. Era por isso que me juntava aos outros sempre que o Neville ou o Louis amuavam, virando-me as costas.
E foi assim, nem sempre da mesma forma ou seguindo uma ordem precisa, que a minha cobertura de cera se foi derretendo, gota a gota. Através desta transparência
tudo se tornou visível, até mesmo aqueles campos maravilhosos onde nunca ninguém esteve e que a princípio só o luar iluminava; prados cobertos de rosas e crocos,
e também de rochas e cabras; de coisas manchadas e escuras; do que está embaraçado, ligado, e ainda do que trepa. Levantamo-nos da cama de um salto, abrimos a janela,
e com que barulho as aves levantam voo! Todos conhecemos aquele súbito bater de asas, aqueles gritos de espanto, canções e confusão; a mistura de vozes; e todas
as gotas brilham e tremem, como se o jardim fosse um mosaico composto por muitos fragmentos, sumindo, chispando; sem contudo se ter transformado numa só coisa; e
um pássaro canta junto à janela. Escutei essas canções. Segui esses fantasmas. Vi uma série de Joans, Dorothys e Miriams (já não me lembro como se chamavam) descer
as avenidas e pararem nos pontos mais altos das pontes para olhar o rio. E de entre elas elevam-se uma ou duas figuras distintas, aves que cantavam junto à janela
com o egoísmo próprio da juventude; que quebravam as cascas nas pedras e enterravam os bicos na matéria pegajosa; duras, ávidas, sem possuírem qualquer tipo de remorsos;
são elas a Jinny, a Susan e a Rhoda. Penso terem sido educadas ou na costa leste ou no sul. Deixaram crescer o cabelo, prenderam-no em rabos-de-cavalo, e adquiriram
o ar de éguas espantadas próprio da adolescência.
A Jinny foi a primeira a deslizar até junto ao portão só para comer açúcar. Revelando grande esperteza, roubava os torrões aos que os tinham, mas as suas orelhas
estavam sempre puxadas para trás, o que indicava encontrar-se sempre pronta a morder. A Rhoda era arisca – nunca ninguém a conseguiu apanhar. Tinha tanto de medrosa
como de desastrada. Foi a Susan quem primeiro se tornou mulher, um ser puramente feminino. Foi ela quem derramou no meu rosto aquelas lágrimas escaldantes que tanto
têm de belo como de terrível; de tudo ou nada. Dado necessitarem estes de segurança, nasceu para ser adorada pelos poetas, pois trata-se de seres que gostam de quem
se sente a coser e diga: “Amo, odeio”; de quem não seja próspero nem se sinta confortável, mas que possua uma qualquer qualidade em sintonia com a elevada (se bem
que pouco simpática) beleza característica do estilo puro, a qual é particularmente admirada por aqueles que criam poesia. O pai dela percorria os quartos e descia
os corredores com uma camisa de dormir bastante larga e um par de chinelos velhos. Nas noites calmas, podia-se escutar claramente o ruído das quedas d'água que ficavam
a mais de uma milha de distância. O velho cão mal tinha forças para se pôr de pé. Para mais, ainda havia uma criada louca que não parava de rir e de fazer girar
a roda da máquina de costura.
Constatei o facto até mesmo em plena angústia, quando, torcendo o lenço entre as mãos, a Susan gritou: “Amo, odeio”.
Pensei: “Há uma criatura inútil a rir no sótão”, e este pequeno exemplo serve para mostrar o modo incompleto como mergulhamos nas nossas próprias experiências.
No limite de toda a agonia senta-se um qualquer sujeito que observa e aponta; que murmura coisas, exactamente do mesmo modo como me murmurou uma frase naquela manhã
de Verão, na casa onde o milho chega até à janela: “E foi assim que me dirigiu para aquilo que transcende as nossas capacidades; para o que é simbólico e assim talvez
que permanente, isto se houver alguma permanência no facto de comermos, dormirmos e respirarmos; como se houvesse algo de permanente nestas vidas tão animais, tão
espirituais e tumultuosas”.
O salgueiro crescia junto ao rio. Sentava-me na relva macia junto com o Larpent, o Neville, o Baker, o Romsey, o Hughes, o Percival e a Jinny. Através das
suas pequenas plumas manchadas de pequenos fios que ora eram verdes na Primavera ora alaranjados no Outono, via passar os barcos; via edifícios e mulheres decrépitas
a tentar andar depressa. Foram muitos os fósforos que enterrei no solo, todos eles destinados a marcar este ou aquele estádio do processo de compreensão (poderia
ter sido filosófico; científico; até mesmo pessoal). Enquanto isso, os limites da minha inteligência captavam todas as sensações, até mesmo as mais distantes; o
soar dos sinos; murmúrios gerais; figuras que se esbatiam; uma rapariga a andar de bicicleta que, e à medida que avançava, parecia levantar a ponta do véu que ocultava
todo o caos da vida existente para lá dos contornos dos meus amigos e do salgueiro.
Só a árvore resistia ao eterno fluxo de mudança. Pois o certo é que eu mandava; era Hamlet, era Shelley, era o herói (cujo nome já me esqueci) de um romance
de Dostoievsky; e, por muito incrível que pareça, cheguei mesmo a ser Napoleão. Claro que esta fase só durou um período lectivo. O certo é que, e na maior parte
do tempo, julgava ser Byron. Durante semanas a fio nada mais fiz senão andar pelos quartos a atirar luvas e casacos para as costas das cadeiras. Não parava de caminhar
para a estante para beber mais um gole de água da nascente. Assim, deixei cair todas as frases que possuía em alguém pouco apropriado – uma rapariga que já casou
e morreu –; em todos os livros, em todos os assentos colocados junto às janelas, se viam excertos das cartas que nunca cheguei a acabar e que tinham como destinatário
a mulher que me transformava em Byron. O certo é que é difícil acabar a escrita no estilo de outra pessoa. Chegava todo transpirado à casa dela; trocávamos juras.
Contudo, e dado não me encontrar suficientemente maduro para tamanha intensidade, acabei por me casar com outra pessoa. Mais uma vez, aqui devia haver música. Nada
que se comparasse ao canto de caça do Percival; mas sim qualquer coisa de doloroso, gutural, amargo, algo parecido com o canto da cotovia e que conseguisse substituir
estes escritos idiotas – demasiado evidentes! demasiado razoáveis! – através dos quais tento descrever o momento esvoaçante característico do primeiro amor. O dia
está coberto por uma película vermelha. Olhem bem para o mesmo quarto antes e depois de ela ter entrado. Olhem para os inocentes que, cá fora, vão seguindo o seu
caminho. Nada vêem nem escutam; contudo, prosseguem. Ao nos movermos nesta atmosfera brilhante e pegajosa, sentimo-nos conscientes de todos os movimentos – algo
adere, algo se cola à nossa mão, impedindo-nos de deixar cair o jornal. Existe ainda um ser esventado – colocado no exterior, posto a rodopiar, contorcendo-se em
torno de um galho. Segue-se então o trovão da mais completa indiferença; a luz do relâmpago. Assiste-se depois ao regresso de uma certa dose de irresponsabilidade;
certos campos dão a sensação de que ficarão verdes para sempre – por exemplo, aquele canteiro em Hampstead –; e todas as faces se iluminam, todos conspiram num burburinho
de alegre ternura; e depois aquele sentido místico de realização, ao que se segue o reverso da medalha – aquelas feridas provocadas por aguilhões negros e que se
sentem sempre que ela não vem. É então que nos ares se elevam toda a espécie de suspeitas; horror, horror, horror – mas qual a necessidade de elaborar dolorosamente
estas frases consecutivas quando aquilo que é realmente necessário nada tem de contínuo, assemelhando-se mais a um latido, a um gemido? E tudo para, anos mais tarde,
ver uma senhora de meia-idade a despir o casaco no restaurante., Mas o melhor será regressarmos. Vamos voltar a fingir que a vida é uma substância sólida, com a
forma de um globo, e que a podemos fazer girar por entre os dedos. Vamos fingir ser capazes de elaborar uma história simples e lógica, de forma a que, uma vez encerrado
um assunto – por exemplo, o amor – possamos avançar de forma ordenada para o ponto seguinte. Dizia eu que havia um salgueiro. Os seus ramos caídos e a sua casca
grossa e rugosa tinham o mesmo efeito daquilo que permanece fora das nossas ilusões e que não as pode parar, chegando mesmo a sofrer as influências destas por alguns
instantes, mas que permanece estável, no mesmo sítio, com a gravidade que falta às nossas vidas. Daí o comentário que produz; o padrão que apóia, e a razão pela
qual, à medida que fluímos e mudamos, nos parece medir e avaliar. Por exemplo, o Neville sentou-se ao meu lado, na relva. Mas, ao seguir-lhe o olhar através dos
ramos até este poisar numa barca onde se encontrava um jovem a comer uma banana, perguntou-me se as coisas podem ser assim tão claras. A cena recortava-se com tanta
intensidade e estava tão impregnada pela qualidade da sua visão, que durante alguns instantes também eu a consegui ver através dos ramos do salgueiro: a barca, as
bananas, o jovem. Só então se desvaneceu. A Rhoda aparecia sempre com ar de quem anda a vaguear. Considerava úteis todos os encontros que tivesse, desde os eruditos
de capa a esvoaçar, aos burros que andavam pelos campos. Que medo se pressentia, escondia e acabava por se transformar em chamas nas profundezas daqueles olhos cinzentos,
espantados, sonhadores? Apesar de cruéis e vingativos, não somos tão maus a esse ponto. Por certo que temos uma certa dose de bondade, ou seria impossível falar
de forma aberta como o faço com alguém que mal conheço. Na sua mente, o salgueiro crescia no limiar de um deserto onde pássaro algum cantava. Quando as olhava, as
folhas encarquilhavam, agonizando sempre que por elas passava. Os eléctricos e os autocarros rugiam ainda com mais força, passando por cima de pedras e seguindo
em frente a grande velocidade. Talvez que no seu deserto existisse uma coluna iluminada pelo sol, junto a um lago onde os animais selvagens se aproximam para beber.
Seguia-se então a Jinny. Era ela quem incendiava a árvore. Era como uma papoila, febril, dominada pelo desejo de beber a terra seca. Esguia, angulosa, sem nada ter
de impulsivo, aproximava-se sempre preparada. São tão poucas as chamas que percorrem a terra seca. Ela fazia dançar os salgueiros, mas não com a imaginação, pois
só via o que ali estava. Isto era uma árvore; aquilo um rio; era de tarde; estávamos ali; eu com um fato de sarja; ela vestida de verde. Não havia passado nem futuro;
apenas o momento condensado num anel luminoso; os nossos corpos; e o êxtase e o clímax inevitáveis., Sempre que se deitava na erva, o Louis estendia um impermeável
quadrado, tornando assim a sua presença notada. Tratava-se de algo formidável. Eu possuía a inteligência suficiente para saudar a sua integridade; a pesquisa que
levava a cabo com os dedos ossudos que, e devido às frieiras, era obrigado a enrolar em farrapos, em busca de um qualquer diamante formado pela verdade indissolúvel.
Enterrei caixas de fósforos a arder nos buraquinhos que se encontravam junto à relva que pisava. O seu sorriso e língua afiada reprovavam a minha indolência. A sua
imaginação sórdida fascinava-me. Os seus heróis eram chapéus de coco, e dizia querer trocar pianos por notas de dez libras. Os eléctricos gemiam e as fábricas exalavam
toda a espécie de fumos ácidos na paisagem que construía. Vagueava por ruas e cidades secundárias onde, no dia de Natal, as mulheres vagueiam, bêbedas e nuas. As
suas palavras eram como que disparadas do alto de uma torre; atingiam a água e faziam-na erguer-se. Descobriu uma palavra, apenas uma, para descrever a Lua. Foi
então que se levantou e partiu; todos se levantaram e partiram. Porém, parei, fitei as árvores, e, tal como acontecia no Outono quando olhava para os seus ramos
vermelhos e amarelos, formou-se um qualquer sedimento; eu mesmo me formei; caiu uma gota; eu mesmo caí – ou seja, acabara de emergir de uma experiência recém-completada.
Levantei-me e parti – eu, eu, eu; não Byron, Shelley ou Dostoievsky, mas sim eu, Bernard. Cheguei mesmo a repetir o meu nome uma ou duas vezes. Sempre a abanar
a bengala, dirigi-me a uma loja e comprei – não que goste de música – um quadro de Beethoven rodeado por uma moldura de prata. Não que goste de música, mas na altura
todos os vultos importantes da história, mestres e aventureiros, seres humanos magníficos, pareciam estar atrás de mim. Claro que eu era o herdeiro; o continuador;
a pessoa a quem por milagre haviam ordenado que seguisse em frente. Assim, sempre a abanar a bengala e com os olhos úmidos, não devido ao orgulho, note-se, mas antes
à humildade, lá fui descendo a rua. O primeiro bater de asas desaparecera, o mesmo se passando com o primeiro cântico e exclamação. Está na hora de entrar em casa,
numa casa seca, habitada, descomprometida, um local carregado de tradições, objectos, montanhas de lixo, e tesouros espalhados pelas mesas. Passei a frequentar o
alfaiate da família, que me lembrava o meu tio. As pessoas começaram a surgir em grandes quantidades, mas não de forma tão precisa como os primeiros rostos (o Neville,
o Louis, a Jinny, a Susan e a Rhoda), mas antes revelando possuírem contornos confusos. Não tinham feições, ou, quando as possuíam, estas mudavam com tanta rapidez
que era como se não as tivessem. E, cheio de desprezo e ao mesmo tempo sempre a corar, sempre em situações misturadas; tudo isto sem estar preparado para aceitar
os choques da vida, os quais acontecem sempre à mesma hora e em todos os locais. Que aborrecido! Que humilhante nunca se estar certo do que dizer a seguir, passar
por todos aqueles silêncios dolorosos, tão brilhantes como desertos secos onde todas as pedras são visíveis; e depois, claro, dizer o que não se devia ter dito e
aperceber-se da existência de um fio de sinceridade que de boa vontade qualquer um trocaria por dinheiro, mas que, pelo menos naquela festa, com a Jinny sentada
na sua cadeira dourada, era impossível fazê-lo. É então que, com um gesto grandioso, uma dama pronuncia as seguintes palavras: “Venha comigo”. Leva-nos para uma
alcova privada e concede-nos a honra da sua intimidade. Os apelidos transformam-se em nomes próprios; estes em alcunhas.
Qual o comportamento a seguir em relação à Índia, à Irlanda ou a Marrocos? São os cavaleiros idosos que respondem a esta questão à luz dos candelabros. Descobrimos
com bastante surpresa que possuímos informações a mais. Lá fora, forças indistintas rugem; cá dentro, somos muito íntimos, muito explícitos, possuímos a noção de
que é aqui, neste quartinho, que construímos um determinado dia da semana. Sexta ou sábado. Uma espécie de concha nacarada, brilhante, forma-se por sobre a alma,
e é contra ela que as sensações investem, se bem que em vão. No que me diz respeito, esta carapaça formou-se mais cedo do que na maior parte das pessoas. Enquanto
os outros preferiam comer bolos, eu já descascava a minha pera. Podia pronunciar qualquer frase no mais completo silêncio. É nesta fase que a perfeição tem o seu
fascínio. Imaginamos poder aprender castelhano se atarmos um fio ao dedo grande do pé direito e acordarmos cedo. Enchemos os pequenos compartimentos da agenda com
marcações para jantares às oito e almoços à uma e meia. Espalhamos camisas, meias e gravatas em cima da cama. Contudo, esta precisão externa, esta progressão militar
e ordeira, não passa de um engano, de uma conveniência, de uma mentira. Lá bem no fundo, mesmo quando chegamos à hora aprazada ao local combinado, de coletes brancos
e fazendo uso de todo o tipo de delicadezas formais, existe sempre uma corrente de sonhos destroçados, canções infantis, gritos que se elevam nas ruas, frases e
visões por concluir – ulmeiros e salgueiros, jardineiros a varrer e senhoras a escrever – corrente esta que não pára de subir e descer, mesmo quando conduzimos uma
senhora pela mão até à mesa. No preciso momento em que endireitamos a faca, são milhares os rostos que se agitam de um lado para o outro. Nada existe que possamos
apontar com a colher; nada que possamos chamar um acontecimento. Todavia, esta corrente é também ela viva e profunda. Nela submerso, parava a meio de duas garfadas
e fitava com toda a atenção uma jarra onde se encontrava uma flor vermelha, enquanto era como que iluminado por uma súbita revelação. Ou, ao descer o Strand, dizia:
“É esta frase que quero”, pois acabara de ver uma qualquer coisa fantasmagórica ave, pássaro ou nuvem, elevar-se e abarcar de uma vez por todas a ideia que até então
não parava de me atormentar, e atrás da qual me mantivera, mesmo quando olhava para as gravatas e outras coisas bonitas existentes nas montras. O vidro, o globo
da vida como alguém lhe chamou, longe de ser duro e frio, tem paredes feitas do mais fino ar. Se as apertarmos, rebentam. Seja qual for a frase que tiro deste caldeirão,
ela não passa de um conjunto de seis pequenos peixes que se deixaram apanhar, enquanto milhões de outros continuam a nadar e a saltar, fazendo com que o caldeirão
pareça um banho de prata incandescente, muito embora se escapem por entre os meus dedos. Há rostos que não cessam de aparecer, rostos e rostos – pressionam a sua
beleza contra as paredes da minha bolha. Trata-se do Neville, da Susan, do Louis, da Jinny, da Rhoda, e de mil outras pessoas. Tal como acontece com a música, é
impossível ordená-las de forma correcta, isolá-las umas das outras, ou conferir-lhes um efeito global. A sinfonia por elas construída é tão estranha, com as suas
concordâncias e discordâncias, as suas notas agudas e graves! Cada uma toca o seu instrumento: rabeca, flauta, clarim, percussão, e assim por diante. Com o Neville
discutia o Hamlet. Com o Louis, ciência. Com a Jinny, amor. Então, sem que nada o fizesse esperar, parti para Cumberland com um homem bastante pacato, disposto a
passar uma semana numa pousada onde a chuva não parava de bater contra as vidraças e ao jantar só se comia carneiro. Contudo, essa semana permanece um marco bastante
sólido num turbilhão de sensações não registradas. Foi aí que jogamos dominó; foi aí que discutimos a respeito da carne rija dos carneiros. Foi aí que passeamos
pelas charnecas. E uma menina, receosa de abrir a porta e entrar, entregou-me uma carta escrita em papel azul, através da qual fiquei a saber que a rapariga que
fizera de mim Byron casara com um rico proprietário rural, um homem de polainas e chicote, que durante o jantar discursava a respeito da melhor maneira de engordar
bois. Gritei tudo isto aos quatro ventos, olhei para as nuvens que não paravam de correr pelos céus, e senti o meu fracasso; o desejo de ser livre; de escapar; de
me prender; de ter um objectivo; de prosseguir; de ser o Louis; de ser eu mesmo; e saí para a rua sozinho, de impermeável vestido, e as montanhas eternas fizeram-me
sentir enjoado e nada sublime. Acabei por regressar, culpar a carne por tudo o que acontecera, fazer as malas e regressar à confusão; à tortura. Apesar de tudo,
a vida é agradável, tolera-se. À segunda, segue-se a terça e depois a quarta. A mente constrói anéis; a identidade torna-se mais robusta; a dor é absorvida no processo
de crescimento. Sempre a abrir-se e a fechar-se, zumbindo cada vez mais, a velocidade e a febre da juventude são aproveitadas para o trabalho, até o ser nada mais
parecer do que o mecanismo de um relógio. Com que velocidade a corrente segue de Janeiro a Dezembro! Somos arrastados por tudo aquilo que se nos tornou tão familiar
que não chega a projectar sombra. Flutuamos, flutuamos... Porém, e dado ter de saltar para te contar esta história, lá vou deixando ficar para trás este ponto ou
aquele, acabando por fazer a luz incidir num qualquer objecto perfeitamente vulgar – digamos, o atiçador e a tenaz – tal como o vi passado algum tempo, depois do
casamento da rapariga que me fazia sentir Byron, e agora, sob a influência de uma pessoa a quem chamarei a terceira Miss Jones. Trata-se da rapariga que usa um determinado
vestido quando espera alguém para jantar, que colhe uma certa rosa, que, no momento em que nos barbeamos, nos faz sentir que precisamos ter calma, pois estamos perante
um assunto de grande importância. É então que se pensa: “Como se comportará ela em relação às crianças?”. Reparamos que é um pouco desajeitada com o chapéu de chuva;
mas que se revelou ponderada quando a toupeira foi apanhada na armadilha; e, finalmente, que não tomaria o pequeno-almoço (pensava nos intermináveis pequenos-almoços
da vida de casado) num momento demasiado prosaico – ninguém que se sentasse frente a esta rapariga ficaria surpreendido por ver uma borboleta poisar no pão que se
encontrava na mesa. Para mais, inspirava-me o desejo de subir na vida; para mais, fez-me olhar com curiosidade para os rostos até então algo repulsivos dos bebés
recém-nascidos. E o pequeno bater compassado – tiquetaque, tiquetaque – do coração da mente ganhou um ritmo majestoso. Desci Oxford Street. “Somos os continuadores,
os herdeiros”, disse, lembrando-me dos meus filhos e filhas; e se se trata de um sentimento tão grandioso a ponto de se tornar absurdo e de o termos de ocultar saltando
para um eléctrico ou comprando o jornal da tarde, continua a contribuir bastante para o ardor com que apertamos os atacadores das botas e com que nos dirigimos aos
velhos amigos, agora ocupados com carreiras diferentes.
Louis, o habitante do sótão; Rhoda, a ninfa da fonte sempre úmida; ambos contradiziam tudo o que então considerava positivo; ambos me transmitiam a outra face
daquilo que me parecia tão evidente (o facto de nos casarmos, de nos tornarmos domesticados); e era por isso que os amava, lamentava e invejava profundamente o facto
de serem tão diferentes de mim. Tive em tempos um biógrafo. O indivíduo já morreu há muito, mas se ainda seguisse os meus passos com a mesma intensidade lisonjeira,
comentaria da seguinte maneira o que então aconteceu: “Por esta altura, Bernard contraiu matrimónio e comprou casa... Os amigos constatavam um aumento da sua necessidade
de estar em casa... O nascimento dos filhos explicou a vontade por ele demonstrada em aumentar os seus rendimentos”. Estamos em presença daquilo a que se chama estilo
biográfico, o qual nada mais é do que juntar estilhaços de coisas que nada têm a ver umas com as outras. Ao fim e ao cabo, não podemos encontrar defeitos neste tipo
de estilo se começamos as cartas com “Caro Senhor”, e as terminamos com “Atenciosamente”; não podemos desprezar estas frases dispostas como estradas romanas no tumulto
das nossas vidas, pois são elas que nos fazem andar ao ritmo das pessoas civilizadas; com o passo lento e comedido dos polícias, isto apesar de, ao mesmo tempo,
podermos estar a trautear os maiores disparates em voz baixa – “Escuta, escuta, os cães afinal sempre ladram”. “Vai-te embora, vai-te embora morte”, “Não me entregues
ao casamento das mentes verdadeiras”, e assim por diante. “Foi bem sucedido em termos profissionais... O tio deixou-lhe uma pequena soma de dinheiro” – é assim que
o biógrafo continua, e é assim que tem de o fazer, mesmo que de vez em quando se sinta tentado a brincar com todas estas frases. Mesmo assim, há que as dizer.
Transformei-me num determinado tipo de homens, percorrendo o caminho que me foi traçado na vida como alguns percorrem os carreiros existentes nos campos. As
botas que uso gastaram-se um pouco mais no lado esquerdo. Quando entro, procedem-se a determinados arranjos. “Cá está o Bernard!” As pessoas pronunciam esta frase
de forma tão diferente! Existem muitas salas, muitos Bernards. Havia aquele que era encantador mas fraco; o forte mas arrogante; o brilhante mas inexorável; o simpático
mas frio; o descuidado mas também – e era apenas preciso mudar para a outra sala – o aperaltado, o mundano, o demasiado bem vestido. Aquilo que eu representava para
mim mesmo era completamente diferente, nada tinha a ver com isto. Sinto-me inclinado para me ver com isto. Sinto-me inclinado para me ver melhor representado frente
ao cesto do pão, enquanto tomava o pequeno-almoço com a minha mulher, que, sendo agora casada comigo, deixara de ser a rapariga que usava uma certa rosa sempre que
esperava encontrar-se comigo. Tudo isto me dava a sensação de estar vivo, de existir no meio do nevoeiro, mais ou menos como um sapo que se oculta à sombra de uma
folha verde. “Passa-me...” dizia eu. Ela respondia “o leite”, ou dizia coisas como “a Mary está a chegar”... – palavras simples para aqueles que herdaram os despojos
de todas as eras, mas não quando ditas naquele contexto quotidiano, na maré cheia da vida, quando, à mesa do pequeno-almoço, nos sentíamos completos, inteiros. Músculos,
nervos, intestinos, vasos sanguíneos, tudo o que constituía o revestimento e a mola do nosso ser, o zumbido inconsciente do motor, bem assim como o dardo e o chicote
da língua, tudo isto funcionava de forma soberba. Abrindo, fechando; fechando, abrindo; comendo, bebendo; por vezes falando – todo o mecanismo parecia expandir-se
e contrair-se, semelhante à mola principal de um relógio. Pão torrado e manteiga, café e bacon, o The Times e as cartas – de súbito o telefone tocava com urgência
e eu levantava-me de propósito para o atender. Pegava no bucal preto. Repara na facilidade com que a minha mente se ajustava com vista a assimilar a mensagem – podia
ser (tem-se sempre destas fantasias) um convite para assumir o comando do império britânico; observava a minha compostura; reparava na vitalidade magnífica com que
os átomos da minha atenção se dispersavam, rodeavam o hiato, assimilavam a mensagem, se adaptavam ao novo estado de coisas, e, quando voltava a poisar o auscultador,
criavam então um mundo mais rico, forte e complicado, no qual era chamado a desempenhar o papel que me competia sem nunca duvidar de que era capaz de o fazer. Enfiando
o chapéu na cabeça, saía para um mundo habitado por multidões de homens e mulheres que também haviam enfiado os chapéus nas cabeças, e, sempre que nos encontrávamos
nos comboios e metropolitanos, trocávamos o olhar característico de adversários e camaradas que têm de enfrentar toda a espécie de dificuldades para atingir o mesmo
objectivo – ganhar a vida. A vida é agradável. A vida é boa. O simples processo segundo o qual decorre é satisfatório. Pensemos no cidadão comum e saudável. Trata-se
de alguém que gosta de comer e dormir.
Gosta de sentir o cheiro fresco do ar e de descer o Strand com um passo apressado. No campo, há um galo empoleirado num portão; há uma égua galopando num prado.
Há sempre algo que tem de ser feito a seguir. À segunda segue-se a terça, depois a quarta e a quinta. Cada dia espalha a mesma onda de bem-estar, repete a mesma
curva de ritmo; cobre a areia fresca com um arrepio, ou constrói uma pequena teia de espuma. E é assim que o ser começa a deixar crescer anéis; a identidade torna-se
mais robusta. Aquilo que antes era furtivo como um pequeno grão lançado ao ar e soprado de um lado para o outro pelas rajadas fortes da vida, passa a ser agora atirado
de forma metódica numa direcção precisa, obedecendo a um objectivo – pelo menos é o que parece. Meu Deus, que agradável! Meu Deus, que bom! Como é tolerável a vida
dos donos das pequenas lojas! Pelo menos, é essa a impressão com que fico à medida que o comboio vai atravessando os subúrbios e vejo as luzes que estão acesas nas
salas. Activos, enérgicos como formigas, dizia, quando à janela via os operários dirigirem-se para a cidade de lancheira na mão. Quanta dureza, energia e violência,
pensava, ao ver um grupo de homens de calções brancos correrem atrás de uma bola de futebol num campo cheio de neve, em pleno Janeiro. Muito embora me deixasse perturbar
por qualquer ninharia - podia ser a carne – parecia-me ser um enorme luxo deixar que uma pequena onda abalasse a enorme estabilidade e toda a felicidade da nossa
vida de casados, mais ainda quando o nosso filho estava prestes a nascer. Jantei rapidamente. Falei de forma pouco razoável, como se fosse milionário e me pudesse
dar ao luxo de esbanjar dinheiro; ou ainda, qual faz-tudo, tropeçasse de propósito. Quando íamos para a cama, resolvíamos as nossas questiúnculas nas escadas, e,
deixando-me ficar junto à janela a olhar para um céu tão límpido como o interior de uma pedra azul, dizia: “Deus seja louvado por não termos de transformar esta
prosa em poesia. Bastam-nos algumas palavras”. O espaço e a claridade da paisagem não ofereciam grandes impedimentos, permitindo-nos antes alargar as nossas vidas
para lá dos telhados e das chaminés, até atingirmos o limite imaculado. Foi contra este pano de fundo que a morte se abateu – a morte do Percival. “Qual o significado
da felicidade?”, (o nosso filho acabara de nascer), “qual o significado da dor?”, disse, à medida que descia as escadas e constatava um fenômeno puramente físico:
a divisão do meu corpo em duas partes iguais. Anotei também o estado da casa; o modo como a cortina ondulava; a cozinheira a cantar; o guarda-fatos aparecendo através
da porta entreaberta. Disse: “Dêem-lhe (a mim) um outro momento de descanso”. Ia a subir as escadas. “Agora, nesta sala, ele vai sofrer. Não há outra saída.” Todavia,
não há palavras que cheguem para definir a dor. Devia haver choros, gritos, fissuras, espaços em branco cobrindo as colchas de chita, interferências com o sentido
de tempo e espaço; a sensação de que os objectos em movimento haviam adquirido uma enorme fixidez; e toda a espécie de sons, ora distantes ora próximos; de carne
a ser rasgada e de sangue a escorrer, de uma articulação quebrando-se com violência – por baixo de tudo aparece agora algo muito importante, se bem que remoto, algo
que só a solidão pode manter. E lá continuei a existir. Vi a primeira manhã que ele nunca veria – os pardais lembravam brinquedos dispostos em cima de uma corda
puxada por crianças. Vejo as coisas com desprendimento, do lado de fora, e é tão estranho aperceber-me do quanto são belas em si mesmas! Segue-se a impressão de
que me tiraram um peso dos ombros; de que toda a irrealidade e faz-de-conta desapareceram, de que a suavidade chegou junto com uma espécie de transparência, tornando-nos
invisíveis e fazendo com que as coisas nos surjam frente aos olhos à medida que caminhamos – como tudo isto é estranho. “E agora, que outras descobertas nos restam?”
e, perguntei, para não perder a compostura, ignorei os títulos dos jornais prestando apenas atenção às imagens. Madonas e pilares, arcos e laranjeiras, tudo semelhante
ao que fora no dia da criação (se bem que tocado pelo desgosto), estava ali, à espera do meu olhar. “Aqui”, disse, “estamos juntos sem qualquer interrupção.” Esta
liberdade, esta exaltação, mexeram tanto comigo que, por vezes, ainda hoje lá vou, à procura do mesmo estado de espírito e também o Percival. Todavia, não durou
muito. O que nos atormenta é a terrível actividade do olho da mente – a forma como caiu, o aspecto que devia ter quando o transportaram, os homens com as ancas cobertas
por um pano que não paravam de puxar as cordas; as ligaduras e a lama. É então que surge aquela terrível garra da memória – que não o acompanhei a Hampton Court.
Trata-se de uma garra que arranha, de uma mandíbula que desfaz; não fui. Apesar de todos os protestos impacientes por ele apresentados de que não interessava; para
quê estragar e interromper o nosso momento de comunhão? Apesar da vergonha que sentia, não parava de repetir que não o acompanhara, e, expulso do santuário por estes
demônios diligentes, fui até à casa da Jinny porque ela tinha uma sala; uma sala cheia de pequenas mesas em cima das quais se encontrava toda a espécie de ornamentos.
Foi lá que, por entre lágrimas, confessei não ter ido a Hampton Court. E ela, por seu turno, lembrando-se de coisas que para mim não passavam de ninharias, mas que
tinham o poder de a torturar, revelou-me que a vida murcha sempre que existem factos que não podemos partilhar. Não demorou muito para que uma criada entrasse na
sala, transportando um bilhete, e, quando ela se virou para responder senti-me tomado por uma grande vontade de saber o que estaria ela a escrever e a quem a mensagem
se dirigia. Foi precisamente isto que me fez ver a primeira folha cair na campa do morto. Vi-nos ultrapassar este momento e deixá-lo a sós para sempre. E, sentados
lado a lado no sofá acabamos por nos lembrar do que já fora dito por outros; “os lírios são muito mais belos em Maio”; comparamos o Percival a um lírio – o Percival,
a quem eu queria ver cair o cabelo, chocar as autoridades, envelhecer junto comigo, estava agora coberto de lírios. E assim passou a serenidade do momento; e assim
ela se tornou simbólica; e foi exactamente isso que não consegui suportar. Gritei que o melhor seria cometer a blasfêmia de troçar e criticar, e tentar não o cobrir
com esta pasta adocicada, a cheirar a lírios. Acabei por partir e a Jinny, que não sabia o significado das palavras futuro ou especulação mas que respeitou o momento
com a maior das integridades, moveu o corpo como se este fosse um chicote, empoou o rosto (era isso que me fazia amá-la), e, já à porta, despediu-se de mim com um
aceno, enquanto levava a outra mão ao cabelo para que o vento não a despenteasse, gesto este que me levou a admirá-la ainda um pouco mais, como se fosse algo que
confirmasse a nossa determinação de não deixar crescer os lírios. Observei com uma clareza desiludida a falta de identidade da rua; as suas varandas e cortinas;
as roupas castanhas, a cupidez e a complacência das mulheres que trabalhavam nas lojas; os velhos passeando com as suas roupas de lã; a forma cautelosa como as pessoas
atravessavam a rua; a determinação universal de se continuar a viver quando a verdade é que, seus idiotas, uma qualquer telha vos podia cair em cima e este ou aquele
carro galgar o passeio, pois não existe qualquer espécie de lógica ou razão quando um homem embriagado caminha pela rua com um varapau na mão. Era como alguém a
quem deixaram ver a peça por detrás das cortinas do palco; como alguém a quem se mostra a forma como os efeitos são produzidos. No entanto, acabei por voltar a casa,
onde a criada me pediu para tirar os sapatos e subir a escada de meias. O bebê estava a dormir. Fui para o quarto. Não haveria então uma espada, qualquer coisa capaz
de destruir estas paredes, esta protecção, este gerar filhos e viver atrás de cortinas, envolvendo-nos cada vez mais com livros e quadros? O melhor seria seguir
o exemplo do Louis e consumir a vida na busca da perfeição; ou fazer como a Rhoda e passar por nós a voar, rumo ao deserto; ou, à semelhança do Neville, escolher
apenas uma pessoa de entre os milhões de indivíduos existentes; talvez fosse melhor ainda fazer como a Susan e tanto amar como odiar quer o sol quer a erva coberta
de geada; ou então ser como a Jinny, uma criatura honesta semelhante a um animal. Todos possuíam os seus êxtases, um fio que os ligava à morte; algo que os mantinha
de pé. E assim lá os ia visitando à vez, tentando com os dedos trêmulos abrir os cofres onde guardavam os tesouros. Visitava-os transportando nas mãos a mágoa que
sentia – não, não a mágoa, mas sim a natureza incompreensível desta nossa vida –, pedindo-lhes que a inspeccionassem. Há quem se vire para os padres, outros para
a poesia; eu virava-me para os amigos, para o meu coração, e procurava encontrar algo intacto entre as frases e os fragmentos – eu, para quem não existe beleza suficiente
na Lua e nas árvores; para quem basta o toque entre duas pessoas mas que nem sequer o soube aproveitar, eu que sou tão imperfeito, tão fraco, tão incrivelmente solitário.
E lá ficava eu sentado. Poderia ser este o fim da história? Uma espécie de suspiro? O último estremecer de uma onda? Um fio de água na sarjeta onde, borbulhando,
acaba por desaparecer? Deixem-me tocar na mesa – assim – para que possa recuperar o sentido do momento. Uma prateleira coberta por galheteiros; um cesto de pãezinhos;
um prato de bananas – trata-se de visões reconfortantes. Mas, e se não existem histórias, será que se pode falar em começo e fim? Talvez que a vida não responda
ao tratamento que lhe damos quando a seu respeito falamos. Ainda acordado mesmo quando a noite já vai alta, parece-me estranho não poder controlar mais as coisas.
É então que os ninhos dos pardais não são de grande utilidade. É estranho como a força se infiltra numa qualquer fenda seca. Sentado sem ter ninguém para me fazer
companhia, tenho a sensação de que estamos gastos; somos incapazes de avançar um pouco mais e umedecer a rocha. Acabou-se, chegamos ao fim. Mas espera – fiquei toda
a noite sentado, à espera – sinto de novo um impulso que nos percorre; levantamo-nos, afastamos uma crista de espuma branca; alcançamos a praia; não nos deixamos
limitar. Ou seja, lavei-me e fiz a barba; não acordei a minha mulher; tomei o pequeno-almoço; pus o chapéu e saí para ganhar a vida.
O certo é que às segundas se sucedem as terças. Contudo, restava ainda uma dúvida, uma nota interrogativa. Ao abrir a porta, surpreendi-me por ver os outros
ocupados; ao pegar na chávena de chá, hesitei antes de dizer se preferia com leite ou açúcar. E a luz que caía das estrelas (exactamente como agora o faz) e poisava
na minha mão depois de ter viajado durante milhões e milhões de anos, nada mais podia fazer do que me provocar um breve choque – o certo é que a minha imaginação
é demasiado fraca. Contudo, restava ainda uma dúvida. Uma sombra na minha mente lembrando o bicho do caruncho que se introduz na madeira. Por exemplo, quando nesse
mesmo ano fui visitar a Susan ao Lincolnshire e ela atravessou o jardim para me vir receber, movendo-se com os movimentos de uma vela semi-enfunada, com os movimentos
baloiçando-nos no jardim. As carroças subiam o caminho carregadas de feno; as gralhas e as pombas arrulhavam da forma que lhes é peculiar; a fruta fora coberta e
envolvida em redes; o jardineiro cavava. As abelhas zumbiam atrás dos carreiros vermelhos das flores; as abelhas mergulhavam nos escudos amarelos dos girassóis.
A relva estava coberta de pequenos galhos. Tratava-se de qualquer coisa de rítmico, semiconsciente, envolto em brumas. Todavia, e pela parte que me tocava, era horrível,
lembrava-me uma rede que cai sobre nós e nos tolhe os movimentos. Ela, que recusara o Percival, dera-se a isto, a este disfarce. Sentado num banco à espera do comboio,
pensei no quanto nos havíamos rendido, na forma como nos tínhamos submetido à estupidez da natureza. À minha frente viam-se bosques cobertos de folhas verdes. E,
devido a um qualquer odor ou som, a velha imagem regressava – os jardineiros a varrer e a dama sentada a escrever. Vi as figuras posicionadas junto às árvores, lá
em Elvedon. Os jardineiros varriam, a senhora sentada à mesa não parava de escrever. No entanto, agora posso juntar o contributo da maturidade às intuições infantis
– saturação e ruína; a sensação de que há sempre algo que não podemos ter; a morte; o conhecimento das nossas limitações; o saber o quanto a vida é mais dura do
que aquilo que havíamos pensado. Quando era criança, bastava-me sentir a presença de um inimigo para me sentir espicaçado. Levantava-me e gritava: “Vamos partir
à exploração.” E assim punha ponto final ao horror característico destas situações. E que situação havia ali para terminar? Saturação e ruína. E para explorar? Folhas
e árvores que nada tinham a esconder. Se uma ave levantava voo, não celebrava o facto fazendo um poema – repetia o que já antes vira. Assim, se tivesse um ponteiro
com que indicar as flutuações da curva da vida, indicava esta como sendo a mais baixa; é aqui que ela se enrola sem qualquer sentido na lama onde maré alguma chega
– aqui, no local onde me sento com as costas apoiadas à vedação, os olhos cobertos pela aba do chapéu, enquanto o rebanho lá vai avançando com aquele passo duro
e automático, característico das suas patas duras e finas. Mas, se afiarmos a lâmina romba de uma faca a uma pedra de amolar, algo se eleva: uma ponta de fogo. Assim,
a falta de razão e de destino, o quotidiano, tudo isto misturado produziu uma chama composta por dois factores: ódio e desprezo. Acabei por pegar na minha mente,
no meu ser, naquele objecto quase inanimado, e atirei-o contra todas aquelas pontas soltas, paus e palhas, despojos detestáveis de um naufrágio flutuando numa superfície
oleosa. Levantei-me de um salto. Gritei: “Luta! Luta!”. O único objectivo que nos mantém vivos é o esforço e a luta, o estado de guerra permanente, o destroçar e
voltar a unir – a batalha quotidiana, a derrota ou a vitória. As árvores, antes espalhadas, foram postas em ordem; o verde espesso das folhas transformou-se numa
luz bailarina. Prendi tudo isto com uma frase súbita. Arranquei tudo isto ao terror do que é informe apenas com o uso das palavras. O comboio chegou. Alongando-se
na plataforma, acabou por parar. Entrei nele. E estava de novo em Londres ao fim da tarde. Como me coube bem aquela atmosfera de senso comum e tabaco; de velhotas
sentadas nos compartimentos de terceira classe agarradas aos cestos; de fumadores de cachimbo de “boa noite e até amanhã” pronunciadas por amigos que se despediam
nas estações intermédias, e depois as luzes de Londres – nada que se comparasse ao êxtase da juventude, nada que se comparasse aos estandartes violeta de então,
mas mesmo assim as luzes de Londres; luzes eléctricas e duras elevando-se nos escritórios mais altos da cidade; candeeiros de iluminação pública espalhados pelos
pavimentos secos; chamas rugindo por sobre os mercados. Sinto sempre prazer em ver tudo isto depois de ter despachado um inimigo, nem que seja só por um momento.
Por exemplo, gosto de ver o espectáculo da vida quando vou ao teatro. Aqui, o animal pardo, indescritível, que antes vagueava pelos campos, ergue-se nas patas traseiras,
e, com uma grande dose de esforço e ingenuidade, ergue-se disposto a lutar contra os bosques e os campos verdes, e também contra os carneiros que, ruminando, avançam
a um ritmo regular. E, como não podia deixar de ser, grandes janelas cinzentas estavam iluminadas; rolos de passadeira cortavam o pavimento; era ali que se limpavam
e enfeitavam quartos, lareiras, alimentos, vinhos e conversas. Homens de mãos enrugadas e mulheres de brincos de pérolas não paravam de entrar e sair. Vi os rostos
dos homens repletos de rugas e esgares provocados pelo trabalho e pelo mundo; e a beleza, que de tão adorada sempre por florescer, mesmo na velhice; e a juventude,
tão apta para o prazer que este, pelo simples facto de nele se pensar, se vê obrigado a existir. Parecia que as colinas se precipitavam na sua direcção; e que o
mar o cortava em pequenas ondas; e que os bosques fervilhavam de aves coloridas apenas para a juventude, para a juventude expectante. Era lá que se podia encontrar
a Jinny e o Hal, o Tom e a Betty; era lá que contávamos as nossas piadas e partilhamos segredos; e nunca nos separávamos sem antes ter combinado um outro encontro
no lugar mais apropriado à ocasião e à altura do ano. A vida é agradável; a vida é boa. A terça sucede-se à segunda, e depois daquela vem a quarta. Sim, mas as coisas
começam a ser diferentes ao fim de um certo tempo. O facto pode ser-nos sugerido pelo aspecto de uma sala numa determinada noite, pelo modo como as cadeiras se dispõem.
Parece ser bastante confortável afundarmo-nos no sofá colocado a uma esquina, e olhar, escutar. É então que duas figuras de costas para a janela se recortam contra
os ramos de um salgueiro. Chocados, sentimos que se trata de pessoas cujos rostos não possuem qualquer beleza. Na pausa que se segue ao espalhar das ondas, a rapariga
com quem era suposto estarmos a falar diz para si mesma: “Ele é velho”. No entanto não podia estar mais enganada. Não se trata da idade; foi apenas uma gota que
caiu; mais uma. O tempo alterou as coisas outra vez. Lá vamos saindo do arco coberto de folhas, penetrando num mundo cada vez mais vasto. A verdadeira ordem das
coisas – e é esta a nossa ilusão eterna – é agora apenas aparente. Assim, num instante, numa sala de estar, a nossa vida ajusta-se à marcha pomposa de um dia percorrendo
o céu. Foi por isso que, ao invés de pegar nos meus sapatos de pele e de descobrir uma gravata tolerável, fui procurar o Neville. Procurei o mais antigo dos meus
amigos, aquele que me conhecia desde os tempos em que eu era Byron, um dos discípulos de Meredith, e também o herói de um livro de Dostoievsky, cujo nome já me esqueci.
Fui encontrá-lo só, a ler. A mesa perfeitamente arrumada; a cortina corrida de forma metódica; uma faca de cortar papel separando as páginas de um livro em francês
– só então me apercebi de que ninguém altera nem as roupas nem as atitudes pelas quais os conhecemos. Lá estava ele sentado na mesma cadeira, vestindo a mesma roupa,
igualzinho ao que fora no dia em que o conheci. Reinava ali a liberdade, a intimidade; o lume da lareira quase fazia explodir as maçãs das cortinas. Ficamos aIi
muito tempo sentados a conversar. Acabamos por descer a avenida, a avenida que se oculta por baixo das árvores, por baixo das árvores de folhas pesadas e sussurrantes,
as árvores que estão repletas de frutos. Trata-se da avenida que tantas vezes percorremos juntos, de forma que já não existe erva em torno de algumas árvores, em
torno de algumas peças e poemas (os que nos eram mais queridos) – já que não existe erva porque a gastamos com os nossos passos. Leio sempre que tenho de esperar;
se acordo durante a noite, procuro um livro na prateleira. A inchar, sempre a aumentar de volume, tenho a cabeça cheia de ideias nunca antes registradas. Por vezes,
recito uma passagem. Talvez se trate de Shakespeare, talvez de uma velha mulher chamada Peck. A fumar um cigarro enquanto estou deitado na cama, digo de mim para
mim: “Isto é Shakespeare. Aquilo é Peck”. Pronuncio estas palavras com a certeza característica do reconhecimento, junto com o choque sempre agradável do conhecimento,
muito embora nada disto possa ser totalmente partilhado. E lá vamos comparando as nossas versões de Shakespeare e Peck, permitindo que as opiniões que perfilhamos
nos ajudem a esclarecer alguns pontos obscuros das versões alheias; acabando por mergulhar num daqueles silêncios que só muito raramente são quebrados por algumas
palavras, como se uma barbatana se elevasse para quebrar o silêncio; depois do que a barbatana (o pensamento) regressa às profundezas, provocando em seu redor uma
onda de satisfação, de contentamento. Sim, mas de súbito escutamos o tiquetaque de um relógio. Nós, que antes tínhamos estado imersos neste mundo, apercebemo-nos
da existência de outro. É doloroso. Foi o Neville quem alterou o nosso tempo. Ele, que pensara com o tempo ilimitado do espírito, o qual se estende como um relâmpago
desde Shakespeare até nós, atiçou o lume e começou a viver de acordo com aquele relógio que marca a aproximação de uma determinada pessoa. Contraiu-se o balançar
vasto e digno da sua mente. Pôs-se em guarda. Sentia-o escutar o ruído das ruas. Reparei na forma como tocava na almofada. De entre a vastidão de todos os seres
humanos existentes e de todo o passado, escolhera uma única pessoa. Escutou-se um ruído na entrada. Aquilo que ele estava a dizer ficou a pairar no ar como uma chama
pouco à vontade. Fiquei a vê-lo avançar passo a passo, esperar por um certo sinal de identificação e olhar para o puxador da porta com a rapidez de uma cobra. (Compreendi
então o que fazia com que as suas sensações fossem tão agudas – fora sempre treinado pela mesma pessoa.) Uma paixão tão concentrada só podia expulsar todos os que
lhe eram estranhos, mais ou menos como os fluidos cintilantes fazem com todo e qualquer tipo de massa que não os integre. Apercebi-me do quanto a minha natureza,
repleta de sedimentos e dúvidas, repleta de frases e agendas recheadas de apontamentos, era vaga e enevoada. As dobras do cortinado imobilizaram-se; o pisa-papéis
que estava em cima de uma mesa tornou-se mais pesado; a trama das cortinas faiscou; tudo se tornou definido, externo, uma cena à qual eu não pertencia. Sendo assim,
levantei-me e deixei-o. Meu Deus, de que modo as mandíbulas e aquela dor antiga se apossaram de mim assim que abandonei a sala! o desejo de ver uma pessoa que não
estava ali. Quem? A princípio não o soube, depois lembrei-me do Percival. Há meses que não pensava nele. Era tão bom que pudesse estar ali com ele, a descer a rua
de braço dado e a rir às gargalhadas, troçando do Neville.
Mas ele não estava. O seu lugar era um buraco vazio. É tão estranho o modo como os mortos nos assaltam ao virar da esquina, nos sonhos! Este vento cortante
e frio fez-me percorrer Londres durante toda a noite à procura de outros amigos, por exemplo, o Louis e a Rhoda, pois outra coisa não desejava para além de companhia,
certezas, contacto. Enquanto subia as escadas interroguei-me sobre o funcionamento da sua relação. Que diriam quando se encontravam a sós? Imaginava-a pouco à vontade
com a chaleira na mão. Via-a deixar espraiar o olhar por sobre os telhados – ela, a ninfa da fonte sempre úmida, obcecada com visões, a sonhar. Via-a afastar a cortina.
“Fora!” disse. “O pântano junto à Lua está muito escuro.” Toquei, fiquei à espera. O Louis talvez estivesse a encher de leite o prato do gato; o Louis e as suas
mãos ossudas semelhantes às margens de uma doca que a muito custo comprime o tumulto das águas, sabia tudo o que os egípcios e os indianos haviam dito; sabia todas
as palavras pronunciadas por todos aqueles homens de malares subidos e turbantes enfeitados de jóias. Bati, esperei; não houve qualquer resposta. Voltei a descer
as escadas. Os nossos amigos – tão distantes, tão silenciosos, a quem tão pouco visitamos e dos quais quase nada sabemos. Claro que também sou vago e desconhecido
aos olhos dos meus amigos, um fantasma, algo que só raramente se vê. A vida só pode ser um sonho. A nossa chama, a chispazinha que dança em alguns olhos, não tarda
a se apagar. Lembrei-me dos amigos.
Pensei na Susan. Ela comprara terra. Nas suas estufas amadureciam pepinos e tomates. No vinhedo que a geada de há dois anos destruíra, cresciam agora uma ou
duas folhas. Rodeada pelos filhos, percorria os campos com um andar pesado. Andava por ali rodeada de homens calçados com polainas, e ao mesmo tempo apontava com
a bengala para um telhado, para as vedações, para os muros a ameaçar ruína. Os pardais seguiam-na, desejosos de apanhar uma ou outra semente que se escapava por
entre os seus dedos robustos, capazes. “Mas já deixei de me levantar de madrugada”, disse ela. Seguiu-se então a Jinny – sem dúvida que acompanhada por um qualquer
jovem. Por certo, teriam chegado ao momento de crise que costuma ocorrer em todas as conversas. A sala estava propositadamente escurecida; as cadeiras dispostas
com precisão. O certo é que ela ainda procurava o momento. Sem ilusões, dura e límpida como o cristal, cavalgava em plena luz do dia com o peito a descoberto. Deixava
que os espigões a espetassem. Quando o calor do ferro em brasa que lhe ardia na testa se tornava insuportável, não sentia qualquer espécie de medo. Só assim podia
ter a certeza de que tudo estaria em ordem quando a fossem buscar para o enterro. As fitas seriam encontradas no lugar certo. Ainda assim, a porta continua a abrir-se.
“Quem é?”, pergunta, ao mesmo tempo que se levanta para o receber. Está tão preparada como naquelas primeiras noites de Primavera, quando as árvores em frente às
casas onde os respeitáveis cidadãos londrinos se deitavam com toda a sobriedade mal conseguiam ocultar o seu amor; e o chiar dos eléctricos se misturava com o grito
de prazer que emitia, e o ondular das folhas disfarçava o seu langor, a deliciosa lassidão com que se afundava, refrescada por toda a doçura da natureza satisfeita.
É certo que quase nunca visitamos os amigos e pouco sabemos a seu respeito. Contudo, quando encontro um desconhecido e lhe tento contar “a minha vida” – como faço
neste momento – não me limito a recordar apenas uma vida. Não sou apenas uma pessoa; sou muitas; ao fim e ao cabo, não sei quem sou – se a Jinny, se a Susan, o Neville,
a Rhoda, ou o Louis. Para mais, sinto-me incapaz de distinguir a minha vida das que eles viveram. Foi isso que pensei naquela noite outonal em que nos juntamos para
mais um jantar em Hampton Court. A princípio era visível que não nos sentíamos à vontade, pois todos tínhamos os nossos compromissos, e as outras pessoas que subiam
o caminho vestidas desta ou daquela maneira, com bengala ou sem ela, pareciam contrariá-los. Vi o modo como a Jinny olhava para os dedos grosseiros da Susan e depois
ocultava os seus; eu, pelo menos quando comparado com o Neville, tão arrumado e organizado, sentia o quanto a minha vida era um amontoado de frases. Foi então que
ele se começou a exibir, pois sentia vergonha de uma sala, de uma pessoa, do seu próprio sucesso. O Louis e a Rhoda, os conspiradores, os espiões sentados à nossa
mesa, diziam: “Ao fim e ao cabo, o Bernard consegue que o criado nos venha trazer pães – uma forma de contacto que nos é negada”. Por breves instantes, vimos à nossa
frente o corpo daquele ser humano completo que nunca chegamos a ser, mas que, e ao mesmo tempo, somos incapazes de esquecer. Vimos tudo aquilo que poderíamos ter
sido; tudo o que perdemos; e por breves instantes ressentimo-nos das pretensões dos outros, quais crianças que, ao verem partir o único bolo que existe, sentem que
a parte que lhes foi destinada é a mais pequena. No entanto, tínhamos uma garrafa de vinho, e, assim seduzidos, esquecemos as inimizades e paramos de fazer comparações.
E, sensivelmente a meio da refeição, sentimos a escuridão alastrar à nossa volta, a consciência do que não éramos.
O vento, o barulho das rodas, tudo se transformou no rugir do tempo, e precipitamo-nos – para onde? Quem somos nós? Extinguimo-nos por um momento, elevamo-nos
como faúlhas saltando de um pedaço de papel queimado, e o negrume rugiu. Fomos além do tempo, além da história. Para mim, trata-se de algo que dura apenas um segundo,
terminando devido à minha pugnacidade. Bato na mesa com a colher. Se pudesse medir as coisas com compassos por certo que o faria, mas, dado que a minha medida são
as frases, lá as vou construindo. Éramos seis pessoas sentadas a uma mesa em Hampton Court. Levantamo-nos e descemos juntos a avenida. À luz vaga e irreal da madrugada,
caprichosa com o som de vozes ecoando ao longo de uma galeria, recuperei a genialidade. Recortando-se contra o portão, contra um qualquer cedro, vejo os contornos
brilhantes do Neville, da Jinny, da Rhoda, do Louis, da Susan, e também de mim mesmo. Vejo a nossa vida, a nossa identidade.
Apesar de tudo, o rei Guilherme continuava a ser irreal, com uma coroa feita de lata. Mas nós – encostados aos tijolos, aos ramos, nós os seis, sobressaindo
de entre milhões de seres humanos, ardíamos em triunfo, saindo da abundância comedida do passado e do futuro. O momento era tudo, o momento bastava. Foi então que
o Neville e a Jinny, a Susan e eu, semelhantes a uma onda que se quebra, nos separamos, nos rendemos – à folha seguinte, a uma determinada ave, a uma criança com
um arco, ao valor que fica armazenado nos bosques depois de um dia de sol, às luzes que se contorcem como fitas brancas em águas agitadas. Separamo-nos; consumimo-nos
na escuridão das árvores, deixando ficar a Rhoda e o Louis no terraço, junto à urna. Quando emergimos daquele banho – que doce, que profundo! – e vimos que os conspiradores
ainda ali se encontravam, não ficamos muito satisfeitos. Perdêramos o que eles ainda possuíam. Havíamos interrompido algo. Contudo, estávamos cansados e, quer tivesse
sido bom ou mau, consumido ou deixado por concluir, um véu cinzento caía sobre os nossos esforços; quando paramos por alguns instantes no terraço que dava para o
rio, vimos que as luzes se iam afundando. Os barcos a vapor despejavam os passageiros na margem. Ouviu-se uma saudação distante, o som de cânticos, tal como se as
pessoas abanassem os chapéus e entoassem em coro a mesma canção. O ruído das vozes atravessou o rio e senti em mim o velho impulso que me moveu durante toda a vida:
o de me deixar vogar ao som das vozes dos outros entoando a mesma melodia; o de ser atirado para cima e para baixo de acordo com uma alegria, um sentimento, um triunfo
e um desejo quase que despojados de sentido. Mas não agora. Não! Não me podia organizar; não me podia aperceber de mim mesmo; não me podia dar ao luxo de deixar
cair na água tudo o que até há um minuto atrás me fizera sentir ansioso, divertido, ciumento, vigilante, e muitas outras coisas mais. Sentia-me incapaz de recuperar
de todo aquele desperdício, dissipação, o vogar à tona nas águas contra a nossa vontade, afastando-nos silenciosamente por entre os arcos da ponte, girando em torno
de um amontoado de árvores ou de uma olha, lá, onde as aves marinhas descansam no cimo de estacas, por sobre as águas revoltas que no mar acabam por se transformar
em ondas – não consegui recuperar desta dissolução. E lá acabamos por nos separar. Seria então aquela mistura com os outros, com a Susan, a Jinny, a Rhoda, o Louis
e o Neville, uma espécie de morte? Uma nova disposição dos elementos? Um qualquer sinal do que se viria a passar? Fechei o livro depois de ter tomado nota do facto,
pois o certo é que sou um aluno intermitente. Na hora certa, não há maneira de saber a lição. Mais tarde, quando descia Fleet Street durante a hora de ponta, lembrei-me
do que se passara e resolvi dar-lhe continuidade. Pensei: “Será que devo continuar a bater com a colher no tampo da mesa? Não faria melhor se cedesse um pouco, aliás,
como todos os outros fazem?”. Os autocarros estavam apinhados; sucediam-se ininterruptamente e paravam com um estalido, como se cada um deles fosse um elo numa corrente
de pedra. As pessoas continuavam a andar. Eram multidões transportando pastas as que se moviam com a rapidez de um rio aquando da altura das cheias. O ruído por
elas provocado era semelhante ao rugir de um comboio num túnel. Aproveitando uma oportunidade, atravessei; mergulhei numa passagem escura e entrei no local onde
costumava cortar o cabelo. Recostei a cabeça e colocaram-me uma toalha em volta do pescoço. Havia espelhos por toda a parte e neles via reflectir-se o meu corpo
atado e as pessoas que passavam, ora parando ora olhando, acabando por se afastar, indiferentes. O barbeiro começou a mover a tesoura para a frente e para trás.
Sentia-me impotente para parar as oscilações produzidas pelo aço frio. Disse para comigo que era assim que somos ceifados e dispostos em feixes; ficando deitados
lado a lado nos prados úmidos – ramos murchos e hastes em flor. Deixamos de ter necessidade de nos expor ao vento e à neve; de nos mantermos direitos quando a tempestade
se abate sobre nós; de carregar nos ombros o fardo que nos compete; ou de permanecer calados nos dias de Inverno, quando as aves se encostam ao tronco e a umidade
cobre as folhas de branco. Somos cortados; caímos. Tornamo-nos parte daquele universo oculto que dorme quando estamos ocupados e vai ao rubro quando dormimos. Renunciamos
ao nosso tempo, e agora jazemos no chão, murchos e prestes a ser esquecidos! Foi então que reparei que o barbeiro olhava para a rua como se lá fora houvesse algo
que o interessasse. O que lhe teria chamado a atenção? Que teria ele visto na rua? É este tipo de coisas que me desperta. (Dado não ser místico, tem de haver sempre
algo a me espicaçar – curiosidade, inveja, admiração, interesse pelo barbeiro.) Enquanto o homem escovava o meu casaco, eu sofria a bom sofrer para me assegurar
da sua identidade, e então, a baloiçar a bengala, fui até ao Strand, e, como que para me servir do pólo oposto, evoquei a imagem da Rhoda, sempre tão furtiva, sempre
com o medo reflectido nos olhos, sempre à procura de uma coluna no deserto. Acabei por descobrir que ela partira; que se suicidara. “Espera”, disse, imaginando (é
assim que comunicamos com os amigos) que lhe segurava o braço. “Espera até os autocarros passarem. Não atravesses dessa forma tão perigosa. Estes homens são teus
irmãos.” Ao tentar persuadi-la estou a tentar persuadir a minha própria alma. Pois o certo é que a vida não é só uma; nem sempre sei se sou homem ou mulher, se me
chamo Bernard, Neville, Louis, Susan, Jinny ou Rhoda – tão estranho é o contacto que mantemos uns com os outros. A abanar a bengala, com o cabelo acabado de cortar
e a nuca a arder, passei por todos aqueles tabuleiros de bonecos baratos importados da Alemanha, os quais são vendidos na rua, perto de St. Paul – St. Paul, a galinha
de asas abertas de onde, à hora de ponta, saem autocarros e rios compostos por homens e mulheres.
Imaginei o modo como o Louis subiria aqueles degraus, ele e o seu fatinho engomado, a bengala, e aquele porte sobranceiro. Com o seu sotaque australiano (“O
meu pai, um banqueiro de Brisbane”) o certo é que ele demonstraria possuir um respeito muito maior que o meu por todas estas cerimônias antigas, eu, que ouço as
mesmas canções de embalar há mais de um milhar de anos. Sempre que entro, deixo-me impressionar pelos rostos bem esfregados e bronzes polidos; pela música e pelos
cânticos, pela voz de rapaz que se eleva nos ares como se de uma pomba perdida se tratasse. A paz dos mortos impressiona-me – trata-se de guerreiros repousando à
sombra dos seus velhos estandartes. É então que me dá para zombar dos arabescos absurdos de um túmulo qualquer, bem assim como das trombetas, vitórias e armaduras,
já para não falarmos da certeza, tão sonoramente repetida, da ressurreição e da vida eterna. O meu olhar ocioso e inquiridor mostra-me então uma criança dominada
pelo medo; um reformado que caminha com dificuldade; ou as genuflexões das caixeirinhas que, esmagadas pelo peso de sabe-se lá que sofrimento, vieram aqui procurar
algum consolo.
Olho e interrogo-me, e, por vezes, um pouco às escondidas, tento servir-me das orações alheias para ultrapassar a cúpula e acompanhá-las ainda mais, além,
seja lá para onde elas forem. É então que, à semelhança daquela pomba perdida, vejo-me esvoaçar, perder altura, e acabar por cair em cima de uma qualquer gárgula,
num qualquer nariz partido ou numa tumba ridícula, tudo isto sem perder o sentido de humor e espanto. Volto então a ver os que por ali andam empunhando os roteiros,
enquanto a voz do rapaz acaba por azedar, e o órgão de vez em quando deixa escapar uma nota demasiado aguda, demasiado triunfal. Nesse caso, perguntei, como nos
conseguiria o Louis encerrar a todos aqui dentro? Como nos conseguiria ele comprimir, transformando-nos num único ser, servindo-se para isso de um frasco de tinta
vermelha e de um aparo de excelente qualidade? A voz como que se escapou pela cúpula, a gemer.
Voltei à rua a abanar a bengala e a olhar para os expositores de metal das vitrinas, para os cestos de frutas oriundas das colônias, e a murmurar disparates
do estilo: “Escutar, escutar, ouvir os cães a ladrar” ou “A idade de ouro do mundo está prestes a começar” ou “Vem, vem, morte” – misturando parvoíces com poesia,
flutuando na corrente. Há sempre uma qualquer coisa que tem de ser feita a seguir. Depois da segunda vem a terça, depois a quarta e a quinta. Cada dia espalha a
mesma onda. O ser começa a criar anéis. É como se fosse uma árvore.
E, tal como acontece com estas, as suas folhas também caem. O certo é que, certo dia, quando me encostei a um portão que dava para um campo, o ritmo parou,
o mesmo se passando com as rimas e as canções, os disparates e a poesia. Criou-se um espaço vazio na mente. Vi através das folhas espessas do hábito.
Encostado ao portão, lamentei a existência de tantas ninharias, de tantas coisas que ficaram por fazer, do facto de a vida estar cheia de compromissos, nos
impedir de atravessar Londres para visitar um amigo, ou de apanhar um navio, rumo à Índia e ver um homem nu arpoando os peixes que vivem nas águas azuis. Disse que
a vida fora imperfeita, uma espécie de frase por terminar. Fora-me impossível (pois não é verdade que aceito partilhar o tabaco que qualquer caixeiro-viajante me
oferece no comboio?) ser coerente – manter o sentido das gerações que se sucedem, das mulheres que transportam ânforas vermelhas até ao rio Nilo, do rouxinol que
canta entre conquistas e migrações. Comentei que o empreendimento fora demasiado grande, e isso impossibilitava-me de continuar a levantar os pés de forma a conseguir
subir a escada. Falei comigo mesmo do mesmo modo que o teria feito em relação a um companheiro com quem viajasse rumo ao pólo Norte. Falei com aquele “eu” que me
tem acompanhado em tantas e incríveis aventuras; o homem fiel que se senta junto à lareira a atiçar o lume quando já todos se foram deitar; o homem que se foi formando
de forma tão misteriosa através de súbitos acréscimos do ser, ora junto a um salgueiro na margem de um rio ora encostado a um parapeito em Hampton Court; o homem
que se uniu em momento de urgência e bateu com a colher na mesa, ao mesmo tempo que dizia: “Tal não consentirei!”. Inclinado por sobre aquele portão que dava para
uma série de prados onde as cores ondulavam, este ser não me respondeu. Não me ofereceu oposição. Não tentou construir qualquer frase. Nem sequer cerrou os punhos.
Esperei. Escutei. Nada surgiu, nada. Possuído pela sensação de ter sido abandonado, soltei um grito. Agora, nada mais existe. Não há barbatana que quebre a fixidez
deste mar imenso. A vida destruiu-me. As palavras que digo já não têm qualquer eco. De facto, trata-se de uma morte bem mais verdadeira que a dos amigos, que a da
juventude. Sou a figura enfaixada de barbearia, e ocupo pouquíssimo espaço. A cena que se estendia a meus pés como que secou. Foi como um eclipse, como se o Sol
se tivesse ido embora e deixasse a terra, antes resplandecente de folhagem verde, seca, murcha. Para mais, vi que na estrada poeirenta o vento fazia dançar os grupos
que antes formávamos, a forma como se juntavam, comiam junto, se encontravam nesta ou naquela sala. Vi a minha própria diligência infatigável – o modo como corria,
daqui para ali, pegava e transportava, viajava e regressava, me juntava a este grupo e depois àquele, aqui beijando, ali partindo; sempre em movimento devido a um
qualquer objectivo extraordinário, com o nariz colado ao chão como um cão farejando um odor; por vezes, virando a cabeça, por vezes soltando um grito de espanto
ou desespero, tudo para voltar a poisar o nariz no trilho. Que desordem – que confusão; aqui com um nascimento; ali com uma morte; suculência e doçura; esforço e
angústia; e eu sempre a correr de um lado para o outro. Finalmente, tudo terminara. Já não tinha mais apetites para saciar; não mais ferrões com os quais podia envenenar
as pessoas; sem dentes nem garras afiadas, sem o desejo de sentir o formato das uvas e das pêras, e de ver o sol bater nos muros do pomar. Os bosques desapareceram;
a terra nada mais era que um nevoeiro de sombras. Som algum quebrava o silêncio da paisagem invernosa. Galo algum cantava; o fumo deixara de subir nos ares; os comboios
estavam parados. “Um homem sem eu”, disse. Um corpo pesado encostado a um portão. Um homem morto. Com um desespero apaixonado, com a maior das desilusões, examinei
a dança do pó; a minha vida, a vida dos meus amigos, e ainda as presenças fabulosas de homens com vassouras, mulheres a escrever, o salgueiro junto ao rio – nuvens
e fantasmas também eles feitos de pó, de um pó sempre em mudança, mais ou menos como as nuvens se unem e afastam, adquirem reflexos dourados e vermelhos, e perdem
os contornos inclinando-se nesta ou naquela direcção, volúveis, fúteis. Eu, agarrado ao bloco de apontamentos, sempre a construir frases, limitara-me a registrar
simples mudanças; uma sombra. Mostrara-me pronto a registrar sombras. Perguntei-me como iria continuar sem “eu”, sem peso e sem visão, através de um mundo sem peso
e sem ilusões. O peso do meu desânimo abriu a porta onde me apoiava e empurrou-me, a mim, um homem de idade cheio de cabelos brancos e bastante pesado, em direcção
a um campo vazio, sem qualquer cor.
O objectivo desta viagem não era ouvir ecos, ver fantasmas, chamar opositores, mas apenas caminhar sem ter qualquer sombra a me encobrir, não deixando marcas
na terra morta. Se ao menos ali houvesse um carneiro a ruminar, a arrastar uma pata atrás da outra, um pássaro ou um homem enterrando uma pá no solo, se ao menos
ali houvesse um espinheiro para me prender, ou uma fossa repleta de folhas úmidas onde pudesse cair – mas não, o carreiro melancólico não possuía qualquer desnível,
seguindo sempre através da mesma paisagem invernosa, pálida, e sem qualquer interesse. Assim sendo, como é que a luz regressa ao mundo depois de um eclipse solar?
Por milagre. Aos poucos. Em faixas muito estreitas. O outro fica suspenso como se fosse uma redoma de vidro. É um círculo que qualquer pequeno toque pode quebrar.
Surge ali uma pequena cintilação, de pronto abafada por um qualquer tom pálido. Segue-se um vapor, como se a terra estivesse a respirar pela primeira vez. Então,
no meio de toda aquela melancolia, alguém caminha envolto numa luz verde. Adeus fantasma branco! Os bosques são percorridos por frêmitos azuis e verdes, e, aos poucos,
os campos ficam inundados de vermelhos, dourados e castanhos. De súbito, há uma luz azul que se eleva das margens do rio. A terra absorve a cor como se de uma esponja
a beber água devagar se tratasse. Ganha peso; arredonda-se; fica como que pendurada; assenta e baloiça suavemente a nossos pés. E assim a paisagem acabou por me
ser devolvida; vi os campos serem submersos por ondas de cor, mas desta feita com uma diferença: via mas não era visto. Caminhava a descoberto; nada me denunciava.
Deixara cair a velha capa, as velhas réplicas, a mão oca que produzia sons. Esguio como um fantasma, sem deixar marcas no solo por onde caminhava, apenas me apercebendo
das coisas, percorria sozinho um mundo nunca antes percorrido; roçando flores desconhecidas; incapaz de articular qualquer outra palavra para além dos monossílabos
próprios das crianças; sem o abrigo das frases – eu, que tantas construí sem qualquer companhia, eu, sempre rodeado de colegas; solitário, eu, que sempre tive alguém
com quem partilhar a grade vazia ou o armário com o seu puxador dourado. Mas como descrever um mundo que é visto sem um “eu”? Não existem palavras. Azul, vermelho
– até mesmo eles distraem, até mesmo eles impedem a passagem da luz.
Como voltar a descrever ou a dizer qualquer coisa servindo-me de palavras artificiais? – excepto aquilo que se esbate, aquilo que sofre uma transformação gradual,
acabando por se transformar, mesmo no decorrer deste curto passeio. A cegueira regressa à medida que as folhas se vão repetindo. A ternura regressa à medida que
olhamos, e com ela todo um comboio de frases-fantasmas. Respira-se cada vez com mais facilidade; lá em baixo, no vale, o comboio atravessa os campos envoltos em
fumo. Todavia, houve uma altura em que me sentei na relva num qualquer ponto acima do nível do mar e do som dos bosques, e vi a casa, o jardim, as ondas a se desfazerem.
A velha ama que virava as páginas do livro de gravuras parou e disse: “Olha. Isto é verdade”. E assim pensava eu esta noite, ao descer Shaftesbury Avenue. Pensava
naquela página do livro de gravuras. Foi então que te encontrei no sítio onde se vai pendurar o casaco e disse para comigo: “Não interessa quem se conhece. Esta
história de ser já terminou. Não sei de quem se trata nem me interessa saber; jantaremos juntos”. Foi então que pendurei o casaco, te dei uma pancadinha no ombro
e disse: “Anda, vem sentar-te junto a mim”. A refeição já terminou; estamos rodeados de cascas e côdeas.
Tentei quebrar este ramo e oferecer-to, mas não faço a mínima ideia se nele existe alguma verdade ou conteúdo. Para falar com franqueza, nem sei muito bem
onde nos encontramos. Que cidade contemplará aquele pedaço de céu? Será Paris, Londres, ou antes uma cidade do Sul, repleta de casas de um rosa desmaiado colocadas
à sombra dos ciprestes e de altas montanhas sobrevoadas por águias? De momento, não tenho a certeza. Começo agora a esquecer; começo a duvidar da rigidez das mesas,
da realidade do aqui e agora, e a bater com os nós dos dedos nos contornos dos objectos aparentemente sólidos, dizendo: “És mesmo duro?”. Vi tantas coisas, construí
tantas frases diferentes. Perdi-me no processo de comer, beber, e esfregar os olhos contra as superfícies finas e duras que cercam a alma, as quais, e durante a
juventude, nos impedem de sair – daí a falta de remorsos e a violência característica dos jovens. Chegou agora a hora de perguntar: “Quem sou eu?”. Outra coisa não
fiz até agora senão falar a respeito do Bernard, do Neville, da Jinny, da Susan, da Rhoda e do Louis. Serei eu todos eles? Serei uma criatura individual e distinta?
Não sei. Houve um tempo em que nos sentávamos juntos. Mas agora o Percival e a Rhoda estão mortos; estamos divididos; não estamos aqui. Mesmo assim, sou incapaz
de encontrar qualquer obstáculo a nos separar. Não existem divisões entre eu e eles. À medida que falava, sentia que “eu sou vocês”. Conseguira ultrapassar esta
divisão que tanto fazemos, esta identidade que adoramos com tanto fervor. Sim, quando a velha Mrs. Constable levantou a esponja e, derramando água sobre mim, me
cobriu a carne, o facto tornou-me ultra-sensível. Sinto na testa o golpe que provocou a morte do Percival. Aqui, na nuca, está a marca do beijo que a Jinny deu ao
Louis. Tenho os olhos cheios com as lágrimas da Susan. Lá ao longe, estremecendo como de uma teia dourada se tratasse, vejo a coluna que a Rhoda via, e sinto a deslocação
de ar provocada por ela quando se atirou. É assim que para moldar a história da minha vida e te a apresentar como algo completo, tenho de me lembrar de coisas há
muito ocorridas, afundadas nesta ou naquela vila, nela se fixando; de sonhos, dos objectos que me rodeavam, e dos seres que em mim habitam, esses velhos fantasmas
semi-articulados que não param de me assombrar de noite e de dia; que se agitam durante o sono, que emitem gritos confusos, que estendem os dedos fantasmagóricos
e me agarram sempre que tento escapar – sombras de potenciais seres humanos; seres que não chegaram a nascer. Claro que não me posso esquecer do velho bruto, do
selvagem, do homem coberto de pêlo, que se entretém a brincar com entranhas; que devora e arrota; cujo discurso é gutural, visceral – bom, ele também existe e vive
em mim. Esta noite alimentou-se de codornizes, salada, e timo de vitela. De momento, tem entre as garras um copo de brandy velho. À medida que bebo, vai ronronando
de satisfação. Sim, é verdade que lava as mãos antes de jantar, mas mesmo assim estas continuam peludas. Abotoa calças e coletes, mas estes contêm os mesmos órgãos.
Faz birras se não lhe dou de jantar.
Não pára de fazer caretas e de apontar com gestos semi-idiotas de cobiça e ganância que o caracterizam para tudo o que deseja. Garanto-vos que, por vezes,
tenho dificuldade em o controlar. Aquele homem, peludo e semelhante a um macaco, tem dado a sua regular contribuição na minha vida. Deu um brilho ainda mais verde
às coisas que já o eram, levantou a sua tocha vermelha e fumarenta por detrás de todas as folhas.
Chegou mesmo a iluminar todo o jardim. Brandiu o archote em algumas vielas sórdidas onde de súbito as raparigas pareciam brilhar com uma transparência avermelhada.
Oh, o certo é que elevou bem alto a sua chama! O certo é que me fez entrar em danças selvagens! Mas agora acabou-se. Esta noite o meu corpo ergue-se como se de um
templo se tratasse, um templo coberto de tapetes, onde os murmúrios se elevam e o incenso arde nos altares.
Tenho a cabeça recheada de belas melodias e vagas de incenso, isto enquanto a pomba perdida esvoaça, os pendões ondulam por sobre as tumbas, e os ventos escuros
da meia-noite fazem as árvores bater contra as janelas. Vistas deste plano transcendente, como são belas as côdeas de pão! Que perfeitas são as espirais produzidas
pelas cascas das pêras – de tão finas e sofisticadas, chegam mesmo a lembrar os ovos de uma qualquer ave marinha. Até mesmo os garfos, dispostos lado a lado de forma
ordenada, têm uma aparência lúcida, lógica, exacta; e as côdeas que deixamos são duras, lustrosas, amareladas. Seria capaz de adorar a minha própria mão, este leque
atravessado por pequenos veios azuis e misteriosos, um instrumento incrivelmente habilidoso, possuidor da capacidade subtil de se curvar com doçura ou de se deixar
cair com violência – algo de grande sensibilidade. Receptivo até mais não, tudo guardando, saciado, e, no entanto, tão lúcido, contido – assim é o meu ser agora
que o desejo o abandonou; agora que a curiosidade não o tinge de mil e uma cores. Agora que o homem a quem chamavam Bernard morreu, o homem que trazia no bolso uma
agenda onde anotava todo o tipo de frases – frases para a Lua, notas a respeito de feições; do modo como as pessoas se viravam e deixavam cair a ponta dos cigarros;
a letra B para “pó de borboleta”, a letra M para nomear a morte – este ser está como que esquecido e imune a tudo. Mas agora talvez não seja má ideia deixar que
a porta se abra, a porta de vidro que não pára de girar nas dobradiças. Deixem entrar uma mulher, deixem sentar-se um jovem de bigode, vestido a rigor. Poderão eles
dizer-me alguma coisa? Não! Já conheço tudo isto. E se ela se levantar de repente e partir, direi: “Minha cara, já não te persigo mais”. O choque provocado pelas
ondas quebrando-se contra a praia, o qual toda a vida escutei, deixou de fazer estremecer o que seguro. Agora, depois de ter assumido o mistério das coisas, posso
espiar tudo o que me apetece sem ser obrigado a abandonar este lugar, ou mesmo a levantar-me da cadeira. Posso visitar as fronteiras mais remotas dos desertos, onde
os selvagens se juntam às fogueiras. O dia vai nascendo; a rapariga eleva as jóias faiscantes à altura da fronte; os raios de sol incidem directamente na casa adormecida;
as ondas aprofundam as barras e como que se atiram de encontro à praia; a espuma voa; as águas acabam por rodear o barco e as algas. As aves cantam em coro; cavam-se
túneis profundos por entre os caules das flores; a casa adquire uma coloração pálida; o ser adormecido espreguiça-se; aos poucos, tudo se começa a mover. A luz inunda
o quarto e faz recuar as sombras até um ponto em que elas se dobram e quase desaparecem. Que estará contido na sombra central? Algo? Coisa nenhuma? Não sei. Oh,
mas eis que surge o teu rosto! Eu, que estivera a pensar a meu respeito em termos tão vastos, comparando-me a um templo, a uma igreja, a todo o universo, sem possuir
limites e com capacidade para estar no limite das coisas como estou aqui, afinal não passo daquilo que vês – um homem idoso, pesado, de cabelos brancos, que (estou
a ver-me ao espelho) apóia o cotovelo na mesa e segura na mão esquerda um copo de brandy velho. Foi então este o golpe que me preparaste?! Acabei por bater contra
um poste. Não paro de girar de um lado para o outro. Levo as mãos à cabeça. Estou sem chapéu – deixei cair a bengala. Fiz figuras tristes e agora qualquer um pode
troçar de mim. Meu Deus, como a vida é nojenta! Que partidas sujas nos prega, concedendo-nos a liberdade num momento para logo a seguir nos fazer isto! Cá estamos
nós de volta às côdeas e aos guardanapos manchados. Aquela faca está cheia de gordura congelada. A desordem, a sordidez e o caos rodeiam-nos.
Temos estado a levar à boca corpos de aves mortas. Somos feitos de pedaços de gordura limpos aos guardanapos, e pequenos cadáveres. Tudo regressa ao ponto
de partida; o inimigo está sempre presente; olhos que nos fitam; dedos que nos apertam; o esforço à nossa espera. Chama o criado. Paga a conta. Temos de nos levantar.
Temos de encontrar os casacos. Temos de partir. Temos, temos, temos – que palavra detestável. Mais uma vez, eu, que me julgara imune, que dissera: “Agora, estou
livre de tudo”, descubro que a onda se abateu contra mim, espalhando tudo o que possuía, deixando-me o trabalho de voltar a juntar e a montar as peças, a reunir
forças, a me erguer e a confrontar o inimigo. É estranho como nós, capazes de tanto sofrer, somos capazes de provocar tanto sofrimento. É estranho como o rosto de
alguém que mal conheço e que me lembra vagamente uma pessoa que conheci na prancha de embarque de um navio prestes a partir para África – um simples esboço composto
por olhos, maçãs do rosto e narinas – tenha poder para me infligir semelhante insulto. Olhas, comes, sorris, aborreces-te, estás satisfeito, perturbado – é tudo
o que sei. Porém, esta sombra sentada à minha frente há já uma ou duas horas, esta máscara por onde espreitam dois olhos, tem poder para me fazer recuar, para me
fechar num compartimento quente; para me fazer andar de um lado para o outro como uma borboleta por entre as lâmpadas. Mas espera. Espera um pouco enquanto a conta
não chega. Agora que já te insultei por me teres desferido um golpe que me fez cambalear por entre cascas, côdeas e bocados de carne, registrarei em palavras de
uma sílaba o modo como o teu olhar me faz aperceber disto, daquilo, e de tudo o mais. O relógio faz tiquetaque; a mulher espirra; o criado chega – as coisas vão-se
juntando aos poucos, transformando-se num só objecto.
Verifica-se um processo de aceleração e unificação. Escuta: soa um apito, as rodas giram, as dobradiças da porta gemem. Recupero o sentido da complexidade,
da realidade e da luta, e devo agradecer-te por isso. E é com alguma pena e inveja, e também com muito boa vontade, que te aperto a mão e te digo adeus. Deus seja
louvado por esta solidão! Estou só. Aquele indivíduo quase desconhecido já partiu, talvez tenha ido apanhar um comboio ou um táxi e se dirija agora para um qualquer
lugar onde o espera uma pessoa que não conheço. Desapareceu aquela cara que não parava de me olhar. A pressão deixou de se fazer sentir. Aqui só existem chávenas
de café vazias e cadeiras onde ninguém se senta. Aqui só existem mesas vazias e ninguém jantará nelas esta noite. Deixem-me entoar o meu cântico de glória. Que o
céu seja louvado pela bênção da solidão. Deixem-me estar só. Deixem-me atirar para longe este véu do ser, esta nuvem que muda ao ritmo da respiração, consoante seja
dia ou noite e durante todo o dia e toda a noite. Mudei enquanto estive sentado. Vi o céu mudar. Vi as nuvens cobrirem-se de estrelas e libertarem-nas para de novo
as cobrirem. Deixei de ver as alterações por elas sofridas. Ninguém me vê e também eu deixei de mudar. Que o céu seja louvado por ter removido a pressão do olhar,
a solicitação do corpo, e toda a necessidade de mentiras e frases. O meu bloco-notas, coberto de frases, caiu ao chão. Está debaixo da mesa, pronto a ser varrido
pela mulher da limpeza que costuma aqui chegar ao nascer do dia, disposta a varrer todos os pedaços e bolas de papel, velhos bilhetes de eléctrico, e todos os detritos
que ficaram na sala. Qual a frase para a Lua? E a frase do amor? Por que nome deveremos chamar a morte? Não sei. Necessito de uma linguagem semelhante à dos amantes,
de palavras de uma só sílaba iguais às que as crianças usam quando entram numa sala e encontram a mãe a coser, pegando então num pedaço de lã colorida, numa pena,
ou num quadrado de chita. Necessito de um uivo, de um grito. Quando a tempestade atravessa o pântano e me apanha a descoberto na vala onde me encontro, não preciso
de palavras nem de nada arrumadinho. Não quero nada que venha do ar e poise no solo com toda a força, não quero nenhuma das ressonâncias e ecos que nos vibram ao
longo dos nervos e se transformam em música selvagem e em frases falsas. Estou farto de frases. O silêncio é bem melhor; a chávena de café, a mesa. É bem melhor
sentar-me sozinho, como uma gaivota solitária que se empoleira num poste e abre as asas a todo o comprimento.
Deixem-me ficar aqui para sempre com todos estes objectos nus, esta chávena, esta faca, este garfo, tudo coisas em si mesmas, eu próprio nada mais sendo que
eu próprio. Não me venham perturbar com essa história de que está na hora de fechar e partir. De boa vontade vos daria todo o dinheiro que possuo para me deixarem
ficar em paz e em silêncio, sozinho, sozinho para sempre. É então que o chefe dos empregados, que só agora acabou de jantar, aparece e franze o sobrolho. Tira o
cachecol do bolso, e prepara-se para partir. Todos têm de partir; têm de correr as persianas, dobrar as toalhas e passar a rodilha molhada por baixo das mesas. Malditos
sejam! Por muito abatido que esteja, tenho de me levantar, encontrar o casaco que me pertence, enfiar os braços nas mangas, agasalhar-me contra o frio da noite e
partir.
Eu, eu, eu, cansado e gasto de tanto esfregar o nariz contra a superfície das coisas, até mesmo eu, um homem velho e gordo, que não gosta de praticar esforços,
me vejo forçado a sair e a apanhar o último comboio. Volto a ver a rua do costume. O brilho da civilização como que se gastou. O céu apresenta-se escuro e polido
como um osso de baleia. Contudo, há nele uma espécie de luz que tanto pode provir de um candeeiro como do alvorecer. Sinto uma espécie de agitação – algures, numa
árvore baixa, os pardais chilreiam. Paira no ar a sensação de que o dia vai nascer. Não lhe chamaria alvorada. Qual o significado de uma alvorada na cidade para
um homem velho, parado no meio da rua e a olhar meio tonto para o céu? A alvorada é uma espécie de empalidecer do céu; uma espécie de renovação. Um outro dia, uma
outra sexta-feira, um outro vinte de Março, Janeiro ou Setembro. Um outro despertar geral. As estrelas recolhem-se e extinguem-se.
As barras tornam-se mais profundas por sobre as ondas. Um filtro de nevoeiro adensa-se por sobre os campos. O vermelho condensa-se nas rosas, até mesmo naquela
bastante pálida, por cima da janela do quarto. Um pássaro chilreia. Os lavradores acendem as primeiras velas. Sim, trata-se do eterno renascer, de uma incessante
ascensão e queda. Sinto que até mesmo para mim a onda se eleva. Incha, dobra-se. Tomo consciência de um novo desejo, de qualquer coisa que se ergue em mim como um
cavalo orgulhoso, cujo montador esporeou antes de obrigar a parar. Que inimigo vemos avançar em direcção a nós, tu, a quem agora monto enquanto desço este caminho?
a morte. É ela o inimigo. É contra a morte que ergo a minha lança e avanço com o cabelo atirado para trás, tal como se este pertencesse a um jovem, ao Percival a
galopar na Índia. Esporeio o cavalo. É contra ti que me lanço, resoluto e invencível, Morte!
As ondas quebram-se na praia.
Virginia Woolf
O melhor da literatura para todos os gostos e idades


















