



Biblio VT




As nuvens eram catedrais negras, altas e góticas que a qualquer momento desmoronariam sobre Genebra. Mais longe, do outro lado dos Alpes da Savoia, a tormenta anunciava sua fúria dando chicotadas de vento que enfureciam o pacífico lago Léman. Acossado entre o céu e as montanhas, como um bicho encurralado, o lago se revoltava dando coices de cavalo, patadas de tigre e rabanadas de dragão, resultando tudo isso num furioso marulho. Numa recôndita depressão entre os penhascos que se precipitavam perpendiculares até afundarem nas águas, estendia-se uma pequena praia: apenas uma franja de areia semelhante a um quarto de lua, minguante quando as águas subiam e crescente na maré baixa. Naquela tarde procelosa de julho de 1816, junto à cabeceira do quebra-mar que limitava o extremo oeste da praia, atracou uma pequena embarcação. O primeiro a descer foi um homem coxo que teve de se equilibrar para não cair nas fauces das águas, cuja iracúndia se descarregava contra a estrutura do dique fraco e rangente que, sobrevoado pelas gaivotas, tinha o aspecto de um fantasmagórico esqueleto encalhado. Já em terra, o recém-chegado agarrou- se com um braço a uma das estacas e, estendendo o outro, ajudou seus acompanhantes a descer: primeiro, duas mulheres, e depois, outro homem. O grupo iniciou a caminhada pelo quebra-mar até a terra firme, como faria uma trupe de equilibristas desajeitados e alegres, sem se demorar à espera de que descesse um terceiro homem que, não sem dificuldade, teve de se safar absolutamente sozinho. Iam em fila contra o vento e a ladeira, até chegarem - encharcados, rindo e ofegantes - à casa situada no alto do pequeno promontório da Villa Diodati. O terceiro homem caminhava a passos curtos e ligeiros, taciturno e sem tirar os olhos do chão, como um cachorro que seguisse o rastro de seu dono. As mulheres eram lady Mary Godwin Wollstonecraft e sua meia-irmã, Jane Clairmont. A primeira, apesar de ainda ser solteira, reivindicava para si o direito de usar o sobrenome do homem com quem iria se casar: Shelley; a segunda, por motivos menos conhecidos, renunciara a seu nome e se fazia chamar Claire. Os homens eram Lord George Gordon Byron e Percy Byshee Shelley. Mas nenhum desses personagens tem grande interesse nesta história, a não ser aquele que desceu por último do barco, aquele que andava solitário e atrasado: John William Polidori, o obscuro e desprezado secretário de Lord Byron.
Os acontecimentos daquele verão na Villa Diodati são suficientemente conhecidos. Ou pelo menos alguns deles. Todavia, a descoberta de certa correspondência que teria sobrevivido ao dr. Polidori, o sombrio autor de The Vampyre, revelaria outros episódios, até agora desconhecidos, sobre sua vida e, mais ainda, esclareceriam as razões de sua morte trágica e precoce.
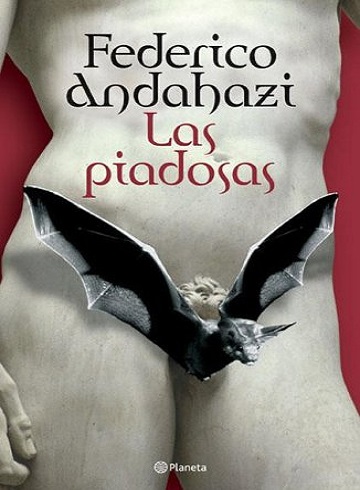
Segundo se afirma, The Vampyre constituiria a primeira narrativa de vampiros, a pedra fundamental sobre a qual iriam se suceder histórias incontáveis, a ponto de transformar o vampirismo num verdadeiro gênero, cujo vértice - pelo menos na ordem de transcendência - Bram Stoker alcançou com seu conde Drácula. Não há história de vampiros que não guarde uma divida de gratidão com o satânico Lord Ruthwen que John Polidori criou. Contudo, os fatos que envolvem o nascimento de The Vampyre parecem tão sombrios como o próprio conto. Sabe-se que não há nada mais duvidoso do que a paternidade. E, no caso dos rebentos literários, as coisas, é natural, não podiam ser diferentes. Embora os repetidos incidentes relativos ao plágio - acusações remotas e recentes, comprovadas ou disparatadas - pareçam intrínsecos à própria literatura e tão antigos quanto ela, no caso de The Vampyre as disputas não resultaram exatamente de reivindicações de propriedade. Ao contrário, por alguma estranha razão ninguém quis reconhecer como sua a maléfica criatura que estava fadada a abrir caminhos. Quando foi publicado, em 1819, o conto tinha a assinatura de Lord Byron, que naquele tempo aceitara sua responsabilidade na - digamos assim - confusa gravidez de Claire Clairmont e, contudo, note-se o paradoxo, repeliu furiosa e veementemente qualquer parentesco com The Vampyre, atribuindo a “culpa” a seu secretário, John William Polidori. E assim foi escrita a história.
Pois bem, uma narrativa tão tétrica como The Vampyre não podia, é claro, ter uma origem menos tenebrosa do que o seu conteúdo. É sabido que, após a morte de Polidori, encontrou-se em seu poder uma quantidade considerável de cartas, documentos e textos que iriam acrescentar dados indesejáveis às biografias de vários ilustres personagens, os quais, com absoluta justiça, teriam pretendido para si uma posteridade pacífica.
A correspondência em questão não é novidade. Ou melhor, as absurdas e escandalosas instâncias jurídicas, acadêmicas e até políticas pelas quais esses documentos tiveram de passar são bem conhecidas. As polêmicas a respeito de sua autenticidade foram uma verdadeira guerra. Deram-se a conhecer, entre outros, os relatórios dos especialistas, os resultados das provas grafológicas, as ambíguas declarações das testemunhas, os irados desmentidos dos atores mais ou menos envolvidos. Mas o que nunca, o que jamais se conheceu publicamente foi o conteúdo de uma só dessas cartas, já que, segundo se diz, teriam se queimado no incêndio que destruiu os arquivos do tribunal em 1824. E era previsível. Mas os escândalos, apesar da magnitude e da ilusão de eternidade que podem provocar, costumam ser tão efêmeros como o tempo que os separa do seguinte e acabam invariavelmente sepultados por toneladas de papel e afogados em rios de tinta. O silêncio pétreo dos envolvidos, o progressivo desinteresse do público e, por fim, a morte de todos os atores jogaram no esquecimento a controvertida documentação da qual, por outro lado, e segundo se afirmava, só tinham restado cinzas.. A única coisa que sobreviveu foi o não menos duvidoso diário de John W. Polidori.
Como o leitor há de desconfiar, impõe-se um inevitável “porém...”. De fato, por motivos absolutamente casuais, há pouco tempo, estando eu em Copenhague, entrou em contato comigo um amabilíssimo personagem que se apresentou como o último dos teratologistas, um exegeta dos antigos textos referentes a monstros, uma espécie de arqueólogo do horror, pesquisador de todos os testemunhos que os míticos teratos tivessem deixado em sua assustadora passagem pelo mundo; enfim, um taxionômico de novos e temíveis leviatãs humanos. Era um homem pálido e longilíneo, de uma elegância anacrônica, digna do século XIX; foi uma breve conversa durante a noite prematura do inverno dinamarquês no Norden Café, diante da fonte das cegonhas, ali onde termina a rua Klareboderne. Segundo me disse, estava a par de um recente artigo meu sobre o tema que o ocupava e viu-se tentado a trocar algumas informações comigo. Não era muito o que eu podia lhe oferecer, de modo que não tive outro jeito senão confessar minha condição de neófito em matéria teratológica; mostrou-se surpreso de que, sendo eu oriundo do rio da Prata, desconhecesse a versão que assinalava que o destino último de boa parte da correspondência de John William Polidori teria sido, presumivelmente, um antigo casarão outrora propriedade de certa tradicional família portenha de ascendência britânica remota. Meu pitoresco interlocutor nunca estivera em Buenos Aires e as referências com que contava eram poucas e imprecisas. No entanto, de acordo com o vago esboço que fizera da casa e segundo sua localização “perto do Congresso”, não tive dúvidas de qual se tratava. Era um palacete em ruínas que, por curiosa coincidência, me era muito familiar. Infinitas vezes eu havia passado pela porta dessa casa extemporânea da rua Riobamba, cuja arquitetura vagamente vitoriana jamais combinou com a fisionomia portenha. Nunca deixaram de me surpreender a palmeira desproporcional que - em pleno centro da cidade de Buenos Aires - se elevava acima das mansardas sinistras nem a grade que precedia o pátio, hostil e ameaçadora, eficaz na hora de dissuadir qualquer vendedor ambulante desavisado a aventurar-se mais além do portão.
Assim que cheguei a Buenos Aires, não hesitei em contar minha conversa ultramarina ao meu amigo e colega Juan Jacobo Bajarlía - sem dúvida nosso mais informado estudioso do estilo gótico -, que logo se ofereceu para oficiar de Caronte no périplo portenho infernal que se iniciava nas portas do casarão da rua Riobamba. Apresso-me a dizer que, graças a suas artimanhas de advogado e a suas argúcias de escritor, chegamos, após infinitas pesquisas, aos supostos documentos.
Honrando um compromisso de discrição, não me é possível revelar mais detalhes sobre como, finalmente, deparamos com os supostos “documentos”. E se me apoio na cautelosa anteposição do adjetivo supostos e nas precavidas aspas, faço-o devido à sincera incerteza: não poderia afirmar que tais papéis não fossem apócrifos nem tampouco o contrário, pois, na verdade, não tive nem sequer a oportunidade de tê-los em mãos.
Na realidade, durante a visita ao velho casarão não vi nenhum original: nosso anfitrião - cuja identidade me abstenho de revelar - em parte nos leu e em parte nos relatou o conteúdo das numerosas folhas guardadas em pastas, uns papéis fotostáticos quase totalmente ilegíveis. As dimensões do porão, entre cujas quatro paredes nos encontrávamos, eram incapazes de abarcar o volume de nosso espanto. Como não nos era permitido conservar nenhum testemunho material - nem cópia nem sequer anotação -, o que se segue é, na falta de memória literal, uma laboriosa reconstrução literária. A história que resultou da concatenação das cartas - fragmentos apenas - é tão fantástica quanto inesperada. A tal ponto que a genealogia de The Vampyre seria, apenas, a chave que revelaria outras incríveis descobertas relativas ao próprio conceito de paternidade literária.
No que me diz respeito, não atribuo nenhuma importância à possível autenticidade da correspondência ou a seu eventual caráter apócrifo. Na verdade, a literatura - às vezes é preciso recorrer a Perogrullo - não reveste outro valor mais essencial do que o literário. Seja quem for o autor das notas aqui reconstruídas, tenha sido ele protagonista, testemunha direta ou tangencial, ou um simples fabulador, não duvidamos que se trata da invenção de uma infâmia urdida por uma inventividade monstruosa, cuja classificação no reino dos espantalhos deixo por conta dos teratologistas. Então, a propósito da veracidade - e, mais ainda, da verossimilhança - dos acontecimentos narrados a seguir, vejo-me na obrigação de subscrever as palavras de Mary Shelley na advertência que antecede seu Frankenstein: “...nem remotamente desejo que se possa chegar a crer que de certa maneira concordo com essa hipótese, e por outro lado também não penso que, ao basear uma narrativa romanesca nesse fato, tenha me limitado, como escritora, a criar uma sucessão de horrores que pertencem à vida sobrenatural”.
De toda maneira, a história se inicia justamente às margens do lago Léman, no verão europeu de 1816.
A residência da Villa Diodati era um esplendoroso palácio de três andares. A frente era regida por um pórtico limitado por uma sucessão de colunas dóricas sobre cujos capitéis repousava uma ampla véranda coberta por um toldo. Um telhado piramidal, onde apareciam três claraboias correspondentes às mansardas, arrematava a arquitetura da mansão. O criado, um homem carrancudo que falava o mínimo indispensável, aguardava os recém-chegados sob o pórtico. Com os pés enlameados, carregando os sapatos nas mãos, os quatro entraram no vestíbulo e, antes que o criado tentasse entregar-lhes toalhas, já haviam tirado as roupas, ficando nus em pelo. Mary Shelley, alegremente exausta, recostou-se na poltrona e, pegando Percy Shelley pela mão, puxou-o para si até fazê-lo cair sobre sua desnuda e agitada corpulência, rodeando-o com as pernas por trás das costas. Claire tirara a roupa devagar e em silêncio. Não fora um ato de deliberada concupiscência, tal como Byron imaginou; pelo contrário, ela estava ausente, comportava-se como se não houvesse mais ninguém na saleta da entrada. Sentou-se no braço da poltrona. Lord Byron olhava-a extasiado. A pele de Claire era feita da mesma matéria pálida da porcelana, e seu perfil parecia o de um camafeu que de repente tivesse criado vida. Seus mamilos tinham um diâmetro surpreendente e eram coroados por uma aréola rosada que, ainda enrugada pelas finas gotas de água e pelo frio, superava a circunferência da boca aberta de Byron que, de súbito, se ajoelhara a seus pés e agora, nu e ofegante, passava a língua por sua pele molhada. Claire não o afastou de modo brusco, nem mesmo se diria que o rejeitou. Mas, percebendo a gélida indiferença, o trancado mutismo com que sua amiga ignorava as carícias que lhe fazia, Byron se pôs de pé, deu meia-volta e, talvez para disfarçar o desprezo de que era objeto, nu como estava, esticou o braço para o ombro do criado e lhe sussurrou ao ouvido:
- Meu fiel Ham, não me deixam alternativa.
O criado mostrava-se mais preocupado com o lamaçal em que se transformara o vestíbulo - as roupas jogadas no chão, o estofado das poltronas empapado - do que com os gracejos despudorados de seu lorde, embora, na verdade, Ham jamais conseguisse perceber quando Byron falava a sério. Nesse momento entrou John Polidori, tirando a capa sob a qual suas roupas estavam apenas úmidas. Como, além disso, ele tivera a precaução de andar pelo caminho de pedra, seus sapatos não apresentavam o menor vestígio de barro. Quando viu o quadro, não pôde evitar um gesto de puritano fastio.
- Ah, meu querido Polly Dolly, todos me rejeitam, você chegou a tempo de preencher minha solidão.
John Polidori era capaz de suportar com resignação estoica as mais cruéis humilhações, aprendera a fazer ouvidos moucos às ofensas mais impiedosas, mas nada lhe dava tanto ódio como seu lorde chamá-lo de Polly Dolly.
John William Polidori, na época muito moço, aparentava menos idade ainda do que tinha. Talvez um certo infantilismo espiritual lhe conferisse uma aparência de garoto que contrastava com sua fisionomia adulta. Assim, as sobrancelhas, pretas e bastas, pareciam desproporcionalmente severas em comparação com seu olhar cândido. Tal como uma criança, não conseguia disfarçar os sentimentos mais primários como o tédio ou a excitação, a aflição ou a exultação, o fascínio ou a inveja. Talvez esta última constituísse o sentimento que menos conseguisse ocultar. E, sem dúvida, o ímpeto de pudicícia diante do quadro que se apresentava a seus olhos não tinha outro motivo senão o ciúme que lhe provocavam os novos amigos de seu lorde. Olhava com desconfiança qualquer um que se aproximasse de Byron. Entretanto, não se diria que a origem de sua desconfiança fosse orientada para proteger seu lorde, e sim para conservar um lugar em sua estima sempre fugidia. Afinal de contas, ele era seu braço direito e merecia um justo reconhecimento. John Polidori examinava agora aquele trio de estranhos com ciúme infantil; mas por trás daqueles olhos negros e pueris parecia aninhar-se um magma de ódio contido, sempre prestes a explodir, uma malícia tão imprevisível como ilimitada.
Sem outra intenção além de pôr um pouco de ordem, Ham, com autoridade paternal e delicada firmeza, bateu palmas conclamando os hóspedes a ficar de pé. Como se tratasse de um grupo de crianças, levou-os aos quartos que tinham sido atribuídos de antemão pelo anfitrião, Lord Byron. Despidos e ainda molhados, atravessaram o grande salão do térreo, subiram as escadas e entraram num corredor escuro e comprido em cujos lados se sucediam as portas dos quartos. As meias-irmãs ocupariam a alcova central do primeiro andar, que era a mais suntuosa e à qual se tinha acesso por uma porta de duas folhas. A Shelley fora atribuído o quarto contíguo da direita, ao passo que Byron ocuparia o da esquerda, ambos igualmente se comunicando por uma porta com a alcova principal.
Quando Ham terminou de alojar cada hóspede em seu quarto, notou que uns passos mais atrás, de pé no lugar mais escuro do corredor, permanecia John Polidori. O criado se aproximou do secretário de Lord Byron e, examinando-o de cima a baixo, perguntou:
- O doutor espera algo?
- Meu quarto - titubeou Polidori, enquanto lhe estendia sua pequena maleta com um sorriso indeciso, cretino.
O criado limitou-se a apontar a escada, com um desdenhoso cabeceio.
- Segunda porta - disse, lacônico, bateu os calcanhares e deixou Polidori com o braço esticado e a maleta suspensa diante do nariz.
Embora entre um e outro existisse a natural rivalidade de hierarquia e de atribuições, inevitável entre um criado e um secretário, Polidori inspirava um indisfarçável desprezo, mesmo em quem lidava com ele pela primeira vez, aversão essa que, por outro lado, o próprio Polidori parecia cultivar. Diríamos que sentia um delicioso prazer na autocomiseração.
O pequeno quarto situado na mansarda era um cubículo escuro apenas ventilado por uma pequenina janela que, como um olho à espreita, havia entre as telhas. O quarto ficava exatamente em cima do de Byron, de modo que se Lord precisasse dos préstimos de seu secretário teria apenas de bater no teto com um pau comprido que arranjara para esse fim, com o único objetivo de obrigá-lo a subir e descer as escadas.
John Polidori estava terminando de trocar as roupas úmidas quando reparou que em cima da escrivaninha havia uma carta. A bem da verdade, custou a se dar conta de que aquilo que repousava junto da lamparina era, de fato, uma carta. Tratava-se de um envelope preto em cujo reverso se destacava, como um crepe, um enorme lacre púrpura tendo ao centro uma barroca letra “L” gravada. Pensou que era uma correspondência para Lord Byron e que o criado deixara ali por engano; contudo, quando leu o verso, percebeu que, na verdade, no lugar do destinatário estava escrito, em letras brancas, “Dr. John W. Polidori”. Não havia motivos para receber correspondência naquele local, já que, na verdade, ninguém sabia de sua chegada recente à Villa Diodati. Antes de abri-la, Polidori correu escada abaixo e dirigiu-se ao office onde o empregado instruía a cozinheira sobre os gostos de Lord e de seus convidados.
- Quando chegou esta carta? - Polidori irrompeu, imperativo.
O criado não se mexeu. Apenas emitiu um ínfimo suspiro de contrariedade.
- Parece que na Itália não se usa anunciar-se - disse à cozinheira, sem nem sequer olhar para o recém-chegado. - Ignoro de que carta o doutor está me falando. Além do mais, a correspondência não me compete, mas, casualmente, ao secretário. De qualquer maneira, informo ao doutor que não chegou carta nenhuma. Decerto, se houvesse correspondência para mim, encareceria ao senhor secretário que me fizesse saber - concluiu e, sem levantar os olhos do generoso decote que se erigia a seu lado, continuou dando instruções à cozinheira.
John Polidori deu meia-volta. Olhava a carta com olhos muito intrigados. Sem dúvida, aquele inabitual envelope preto parecia de tão mau agouro como um corvo. Por outro lado, diante da evidência segura de que não tinha sido o criado, ele conjeturava quem teria deixado o envelope em sua escrivaninha. Além disso, dava como certo que, se dos novos amigos de seu lorde só podia esperar uma surda indiferença, muito menos eles teriam a amabilidade de entregar-lhe uma carta. Que Byron se comportasse como o secretário de seu secretário levando-lhe a correspondência até o quarto tampouco parecia uma hipótese plausível. O mais razoável seria abrir o envelope, ler a carta e, assim, solucionar o pequeno enigma. Mas o dom do pragmatismo não abrilhantava John Polidori. Não podia deixar, a propósito de qualquer ninharia, de desenvolver as conjeturas mais complicadas - de esperar o desfecho dos mais sombrios augúrios. Não o atormentava a falta de sentido da existência, mas, ao contrário, seu sofrimento consistia em atribuir a tudo um significado oculto: o universo era um desígnio tramado contra sua pessoa. Teve inclusive a idéia supersticiosa de não abrir o envelope e jogá-lo de imediato no fogo. Aquela carta só podia significar o mais negro dos sinais. E talvez, pela primeira e única vez, não se enganasse. É provável que o destino de John William Polidori houvesse sido outro se nunca tivesse aberto aquele ameaçador envelope preto.
Genebra, 15 de julho de 1816
Dr. John Polidori:
Talvez o senhor se surpreenda ao receber esta carta ou, melhor dizendo, que esta o receba à sua chegada. Quis ser a primeira a dar-lhe as boas-vindas. Não se dê ao trabalho de ir ao final destas notas para descobrir a identidade do subscritor, pois na verdade o senhor não me conhece. Mas nem desconfia de como o conheço. Antes que avance na leitura, devo lhe pedir que não informe a ninguém sobre esta carta; de seu silêncio depende, agora, a minha vida. Confio em que guardará o segredo, pois, a partir do momento em que tiver lido, quando nada só estas primeiras linhas, sua vida também dependerá, desde agora, irremediavelmente da minha. Não tome isso como uma ameaça, ao contrário, ofereço-me para seu anjo da guarda neste lugar horripilante. Em outras circunstâncias lhe recomendaria que partisse agora mesmo. Mas já é tarde demais. Há apenas uns meses que - contra a minha vontade - encontro-me aqui e, por certo, nada de bom este local me trouxe, salvo sua esperada visita. Este verão foi inabitualmente surpreendente; nem um só dia o sol brilhou. Nunca vi este lugar tão desabitado. Logo o senhor irá notar que até os pássaros emigraram. Comecei a ter medo de tudo. Até minha própria pessoa, por instantes, me parece estranha e temível. Eu que, digo-o sem petulância, jamais tive medo de nada. No entanto, fatos muito estranhos começaram a acontecer. A morte se apossou deste lugar: o lago se transformou num bicho traiçoeiro. Desde o início do verão devorou sem piedade três barcaças das quais não se encontrou uma só tábua. Desapareceram literalmente dentro de suas negras entranhas e nada se voltou a saber sobre seus ocupantes. Há três dias, dois corpos apareceram selvagemente mutilados ao pé das montanhas, perto do castelo de Chillon. Eu mesma os vi. Tratava-se de dois homens jovens - aproximadamente de sua idade - que viviam pertinho da residência que os senhores ocupam. Ignoro como chegaram - vivos ou já mortos - à margem oposta do Léman. E, o que mais me atormenta, não posso garantir que eu mesma não tenha alguma responsabilidade nesse sinistro acontecimento. Mas não se aflija, estou me adiantando.
Sua aguardada presença me tranquiliza, não porque espere algo do senhor - pelo menos por ora -, mas porque só a idéia de protegê-lo - sem dúvida o senhor precisa - me devolve algo da coragem que eu havia perdido.
Se levantar agora mesmo os olhos destas notas, verá, do outro lado de sua janela, a margem oposta do lago. Olhe agora as luzes distantes e tênues que se distinguem no cume da montanha mais alta. É aí onde estou agora. Quando ler estas linhas, estarei vigiando sua janela.
John Polidori interrompeu a leitura. Aquela última frase o fez estremecer. Levantou-se, desembaçou o vidro com a palma da mão e olhou pela janela. Por trás da cortina de água que caía oblíqua sobre o lago, mal podiam se distinguir as montanhas cujos picos se fundiam com o céu de tempestade. Na outra margem brilhavam duas longínquas luzes quase apagadas. Soprou a chama do castiçal que iluminava sua escrivaninha. A tormenta era tamanha que o quarto ficou quase totalmente escuro. Quando olhou de novo pela janela, percebeu que uma das luzes da outra margem já não brilhava. Assim, na penumbra, ficou contemplando. Após um momento, tornou a acender as velas do castiçal. Então, como se fosse obra de sua própria ação, na mesma hora a luz distante do outro lado do lago voltou a brilhar. Esse primeiro e inabitual diálogo o fez estremecer de terror. Com efeito, John Polidori teve a inquietante certeza de que estava sendo observado.
Do andar de baixo chegavam em surdina as gargalhadas de Mary e Claire e o doce perfume do absinto, do tabaco e dos aromatizantes turcos, combinação com que Polidori jamais se acostumara totalmente e que lhe provocava náuseas incontroláveis. Sem refletir, abriu a janela, mas um medo supersticioso obrigou-o a fechá-la na mesma hora. De repente, toda a paisagem que se oferecia do outro lado da janela - cuja majestade era coroada pela neve imponente do Mont Blanc -, todo esse esplendoroso panorama velado por uma translúcida mortalha de chuva ficou reduzido àquela minúscula luz à espreita, que, como um olho ciclópico distante, o observava do alto da montanha. Como que movido por uma vontade contrária à sua, retomou a leitura.
Vou lhe falar de mim. Devo antecipar-me e dizer que hei de revelar-lhe um segredo para o qual talvez ainda não esteja preparado. Mas confio que, durante a leitura desta carta, a coragem de médico se imporá a sua invejável juventude. Não imagina o que significa para mim que esteja lendo estas linhas. Tampouco desconfia do peso - antigo como minha longa vida- do qual me está livrando. Embora possa parecer-lhe incrível, o senhor é o primeiro e único - fora de minha família, se é que assim merece ser chamada - que sabe de minha, até agora, anônima existência. Mas ainda não me apresentei. Meu nome é Annette Legrand. O senhor é muito jovem, mas ainda assim talvez eu não me engane se afirmar que alguma vez terá ouvido falar de minhas irmãs, Bebette e Clarette Legrand.
De fato, John Polidori não só tinha ouvido falar das gêmeas Legrand como, pelo que se lembrava, tivera oportunidade de conhecê-las na casa de miss Mardyn ou - não tinha certeza - talvez numa das festas escandalosas que dera certa amiga de seu lorde, uma atriz do Drury Lane. Mas se lembrava com absoluta clareza das irmãs Legrand. John Polidori ficara profundamente surpreso com a singularidade das - já então - atrizes aposentadas. Além de serem exatamente iguais, era motivo de comentários a incrível unicidade que parecia governar seus movimentos: caminhavam juntas e nunca se afastavam uma da outra mais de um passo de distância; riam das mesmas coisas ou então se mostravam identicamente aborrecidas diante dessa ou daquela conversa; tinham uma natural inclinação para interromper os mais interessantes comentários justo no ansiado momento do desfecho da eventual história e pareciam ser animadas por um mesmo e único espírito. Mas o que mais o surpreendera era a lascívia desinibida com que examinavam qualquer homem que lhes passasse diante do nariz. Não tinham o menor pudor e cravavam os olhos nas mais proeminentes entrepernas. Sem o menor recato, acompanhavam com os olhos - ou, se fosse o caso, virando descaradamente a cabeça - a trajetória do eventual “galã”. Nessas circunstâncias, cochichavam uma no ouvido da outra e riam, nervosas e acaloradas, sem disfarçar a alegre excitação que as invadia. Ao que parece, não mostravam a menor preocupação em desmentir os confusos boatos que corriam a seu respeito. Boatos que iam desde os disse-que-disse sussurrados ao ouvido até o insulto materialmente gravado nas portas dos toaletes públicos. Inclusive ele se lembrava de ter lido num artigo de imprensa o neologismo “legrandesco”, aplicado a certa dama cuja reputação estava sendo posta em dúvida. Pelo menos seu lorde conservava uma altiva dignidade diante dos boatos que corriam sobre ele e em público tinha o cuidado de manter as aparências. “As calúnias são demasiado infames para responder-lhes só com desdém”, escutara-o dizer recentemente, quando um indignado cavalheiro o atacara nos corredores do Hôtel d’Angleterre espinafrando-o porque ele e seus “amigos pestilentos” formavam uma “sociedade incestuosa que ofendia a Coroa”. Em compensação, as irmãs Legrand não pareciam conferir a menor importância às convenções.
Polidori se lembrava. Dava a impressão de estar com o olhar perdido num ponto impreciso, longe deste mundo. Aqueles olhos que pareciam não ver outra coisa além da paisagem difusa de sua própria memória não deixavam de esquadrinhar, contudo, o ponto de luz no alto da montanha. John Polidori deixou a carta em cima da pequena escrivaninha. Andou para lá e para cá como se em algum lugar do quarto fosse encontrar uma explicação. De repente, assaltou-o um ímpeto racional: foi até a janela apoiando os cotovelos no parapeito e o queixo nos pulsos. Observou por muito tempo a tênue profusão de luzes que brilhavam paralelas ao lago. Na mesma dificuldade com que tropeçou para contá-las encontrou a solução: algumas se apagavam e outras apareciam de repente na penumbra distante, umas cintilavam fracas até desaparecer de todo e outras eram, talvez, não mais que pequenas virtualidades refletidas na água. Pensou que se nesse exato momento tivesse a ideia de soprar a chama da lamparina, ao mesmo tempo e por obra do mais puro acaso alguma de todas aquelas luzes que agora ele via poderia se apagar. De fato, nem foi preciso soprar a vela: uma frágil luzinha que brilhava na crista de uma montanha deixou de piscar. Sorriu. Ria de sua própria estupidez. Seu lorde estava caçoando de sua supersticiosa imaginação. Dobrou a aposta para confirmar a hipótese. Pensou que, se agora mesmo e supondo que momentos antes a tivesse apagado, ele voltasse a acender a vela, com toda a certeza alguma outra candeia distante começaria a brilhar a partir do nada. De fato, ao cabo de uns breves segundos viu surgir, na direção do oeste, um repentino ponto luminoso. Tudo aquilo não passava de uma estúpida brincadeira tramada, sem dúvida, por uma das duas pequenas harpias. Aquelas risadas que vinham da escada confirmavam suas conjeturas. Agora estava tudo claro: haviam contado com a cumplicidade do criado, que deixara a carta em seu quarto antes que ele entrasse. Por isso o haviam deixado para trás no alto da serra, apressando o passo para se adiantarem à sua chegada. Mais ainda, agora ele se lembrava de que na noite da véspera da partida de Genebra, no Hôtel d’Angleterre, os quatro tinham comentado umas passagens daquele conto horroroso de Matthew Lewis, The Monk, e como Polidori não conseguiu disfarçar um certo receio, divertiram-se à custa dele, contando histórias cada vez mais sinistras. A carta que agora ele segurava entre o indicador e o polegar fora escrita por Mary ou por Claire. Assim como as luzes que se acendiam e apagavam sem nenhuma lógica externa, a luz que brilhava no alto da montanha - pensou - deixara de arder devido ao mais puro acaso. John Polidori dobrou a carta em quatro e se preparou para descer e anunciar o fim da brincadeira. Contudo, antes de sair do quarto, a fim de se condoer de sua própria estupidez e se convencer da fragilidade da farsa, pegou o candelabro, aproximou-o da janela e, usando o envelope à guisa de tela, o interpôs entre a vela e a vidraça, escondendo a chama durante três intervalos iguais e um mais prolongado. Feito isso, pôs-se a contemplar a margem oposta. Com uma sonora gargalhada, riu de sua própria imbecilidade. No exato momento em que estava prestes a dar meia-volta e abandonar o quarto, pôde ver com nitidez que a luz distante no cume interrompeu-se em três intervalos iguais e num mais prolongado.
Por um momento, John Polidori considerou a possibilidade de que, subitamente, tivesse perdido a razão e de que tudo aquilo - a inexplicável aparição da carta que agora ele pensava segurar entre os dedos, o insólito diálogo de luzes, as negras ameaças que supunha ter lido - não passasse de produto de um vívido delírio. Então, perguntou-se para que alimentar seu tormento com a leitura daquela carta sinistra, nascida de seu próprio e confuso juízo, se essa demonstração tétrica que se apresentava diante de seus olhos não tinha outra origem senão sua demência repentina. Claro que essa hipótese não o tranquilizava; pelo contrário, só a ideia de ter sido vítima da loucura o aterrorizou mais ainda. Por isso retornou à leitura, alimentando agora a esperança de encontrar uma explicação que o dissuadisse da pavorosa ideia de ter perdido o juízo.
Aviso-o desde já: não tenha ilusões a respeito de minha beleza se está pensando em minhas irmãs. O senhor é o primeiro a saber que as gêmeas Legrand não são gêmeas, mas, na verdade, somos trigêmeas. E há motivos de sobra para que ninguém o saiba. Escute:
Eu posso ter sido a espinha bífida de uma de minhas irmãs, um teratoma que cresceu alojado num glúteo fraterno, um daqueles tumores que, quando extirpados, apresentam o horroroso aspecto de uma pessoa feita pela metade: um punhado de pelos, unhas e dentes. Na sua profissão, sem dúvida o senhor deve ter visto mais de um.
John Polidori levantou os olhos da carta. Suas mãos estavam suando e o papel se agitava ao ritmo de seu pulso trêmulo. Aquelas palavras pareciam ter se adiantado a seu pensamento. De fato, não terminara de ler o vocábulo teratoma quando se impôs a sua memória, e contra sua vontade, uma recordação dos anos de estudante. Por mais que tentasse, não conseguia livrar-se da terrível imagem de um frasco dentro do qual boiava no álcool um quisto monstruoso do tamanho de um punho que fora extraído das costas de uma velha. Polidori sempre se considerou um medroso hipocondríaco, incapaz de exercer sua profissão com a firmeza de espírito que um médico deve ter. Essa carta vinha para atormentá-lo. Como uma exasperante presença, podia ver aquela coisa vagamente antropomorfa, do centro da qual brotavam uns ossinhos como dentes, essa espécie de feto velho enrolado num pelame já grisalho do mesmo cinza dos cabelos de miss Winona Orwell, a doente de quem fora extirpado. Ainda podia ver seu professor, o sinistro dr. Green, segurando o teratoma na palma da mão e, como se fosse hoje, lembrava-se de seu olhar malicioso e de sua voz cavernosa que repetia:
- Mister Polidori, me dê sua mão.
Lívido e à beira da lipotimia, o jovem estudante Polidori apertava as mãos às costas, como uma criança.
- Mister Polidori - repetia sorridente e calmo o dr. Green -, estenda a mão ou saia daqui e não volte nunca mais.
Então, fechando os olhos com toda a força das pálpebras, estendeu a mão e na mesma hora pôde sentir que aquela entidade viscosa escorregava inerte pela sua palma com a consistência de um verme morto.
- Mister Polidori, apresento-lhe mister Orwell, seu primeiro paciente. Fica em suas mãos - disse o professor Green diante das gargalhadas nervosas e maliciosas de seus companheiros.
O professor Green deu meia-volta e, dirigindo-se à doente que jazia na cama da enfermaria, disse-lhe em tom protocolar:
- Miss Orwell, apresento-lhe seu irmão mais moço - sorria, enquanto apontava para aquela coisa que jazia na mão trêmula do estudante Polidori.
Miss Orwell, uma velha viúva e sem família que vivia sozinha num asilo de indigentes em Liverpool, endireitou-se apoiada nos cotovelos, olhou com uns olhos úmidos e perguntou com candura:
- Está vivo?
O professor Green deu uma gargalhada medieval que foi seguida pela de todos os alunos. O estudante Polidori não pôde evitar uma profunda náusea antes de cair de costas no chão.
Todavia, meu querido doutor, para compaixão de alguns e espanto de outros, quis o acaso que aquela malformação enquistada nas nádegas fetais de Bebette tomasse um curso subitamente independente, se separasse e, por fim, se transformasse nisto que agora sou. Dr. Polidori, não posso deixar de me reconhecer, se não no fenômeno, pelo menos na etimologia do teratoma: teratos, monstro.
Sou na verdade, e digo isso sem apelar para nenhuma metáfora, um monstro. Nem sequer posso reivindicar minha inclusão na classificação que reúne aqueles abortos da natureza abandonados pelos pais nas portas das igrejas ou nos vestíbulos dos orfanatos. Padeço de uma certa idiotice química, de um desconhecido capricho fisiológico que fez de mim um fenômeno vagamente amorfo. Sou uma espécie de formação residual de minhas irmãs. Os animais, dr. Polidori, pelo menos têm o decoro de matar as crias doentes.
Era de esperar que a brutalidade química que animava minha fisionomia modelasse meu espírito à imagem do corpo em que habitava. Além de meus rústicos modos naturais - mais próximos dos de um bicho que dos de uma dama -, careço de qualquer atributo que se possa qualificar de delicado. Quaisquer dos sentimentos que, na maioria dos mortais, se desencadeiam de forma candente, pudibunda, noturna ou inconfessável, no meu espírito se soltam de modo brutal e incontrolável, de modo repentino e indecoroso, sem o menor cuidado com as convenções sociais: ajo segundo a vontade que me impõem meus impulsos arcaicos. E neste último detalhe, dr. Polidori, talvez nos pareçamos. Sou um ser desmedido, lascivo e jamais meço as consequências do que desejo, ou melhor, do que preciso conseguir. Mas sou, apenas, a terça parte de um monstro que razão alguma - humana nem divina - poderia ter concebido. Ignoro que obscura inteligência governa a natureza; jamais se deixe enganar pelos encantos bucólicos com que os poetas medíocres pretendem embaí-lo. A beleza não é mais do que a aparência do horror e, invariavelmente, necessita da morte: a mais linda flor mergulha suas raízes na fétida matéria decomposta. Não me deterei na tentativa de uma descrição humilhante de minha pessoa; basta que imagine o ser mais horroroso que lhe foi dado ver e depois multiplique por cem esse quantum de feiura.
Polidori não precisou vasculhar muito em sua memória para se lembrar do ser mais assustador que jamais tinha visto. Como se aquela desconhecida soubesse de suas recordações mais ingratas, Polidori não conseguiu evitar que se impusesse a seu espírito um dos episódios mais atrozes de sua curta existência. Agora, evocava o pestilento Abnormal Circus, em cujos sórdidos subterrâneos tivera o privilégio macabro de presenciar o desfile mais assustador: estaturas mínimas, gibas do tamanho de montanhas, garras no lugar de unhas, órbitas de olhos vazados, braços e pernas amputados ou simplesmente inexistentes, grunhidos de fera, risos enlouquecidos, lamentos surdos, prantos dilacerantes, pestilências desconhecidas, cabeças incomensuráveis, súplicas de piedade. Assim, semidomesticados, obedientes uns aos látegos e às correias, rebeldes outros às correntes e aos grilhões, avançavam diante dos gritos brutais e dos golpes furiosos dos “domadores”, enfeitados de librés e botões dourados. Iam numa fila tumultuada pelo corredor estreito e nauseabundo, rumo aos porões. Aqueles 25 freaks trazidos dos quatro pontos cardeais, embarcados nos hediondos porões dos barcos mais pestilentos e enjaulados, depois, nos sórdidos subterrâneos do Abnormal Circus, iriam ser exibidos e vendidos em leilão público a quem desse o maior lance. Com o objetivo de despojá-los de qualquer traço que denunciasse o menor vestígio de humanidade, tinham-lhes prodigalizado os mais extravagantes cosméticos e maquiagens. O dr. Green resolvera ministrar ali, em caráter de “prática obrigatória”, o último curso de patologia. Segundo afirmara o sombrio catedrático, o esperado leilão anual do Abnormal Circus oferecia um incomparável catálogo vivo, um encontro privilegiado com a essência do pathos, impossível de ser apreendido na prática clínica cotidiana. John Polidori lembrava-se de como, antes do leilão, o dr. Green, com a cumplicidade “científica” do leiloeiro, prendera à caminha uma aterrorizada mulherzinha que não tinha mais de meio metro de altura. Os olhos eram duas esferas brancas e inertes pelas quais jamais entrara luz. Para demonstrar- lhes que a “doente” era totalmente cega, pegou um fósforo e o riscou diante de seus olhos. A mulher não apresentou reflexos, até que a chama se aproximou de sua pele. Então, contorcendo-se de dor, emitiu um som gutural, um grito mudo que parecia vir do fundo de uma caverna. O dr. Green explicou que, embora a “doente” não enxergasse, apresentava reflexos táteis. Ato contínuo, pegou a pena, que ainda conservava restos de tinta, e cravou-a na ponta de um dos dedos da “doente”, que arqueou as costas enquanto seu pé esquerdo tremia como num abalo sísmico. O mestre explicou o percurso nervoso que une as pontas dos dedos das mãos e dos pés. A tinta da caneta começava a se misturar com o sangue. A mulher, mexendo a cabeça para a esquerda e a direita, parecia se perguntar- como se tivesse noção do pecado e da piedade - que mal havia cometido para merecer aquele castigo e, a julgar por sua expressão aterrorizada, parecia suplicar clemência. O dr. Green indagou que secretas impressões a “doente” podia abrigar, tendo em conta que era cega, surda e muda. Um enigma interessante, a respeito do qual aconselhou seus espantados alunos a refletir. Nesse exato momento, uma voz subterrânea, cavernosa, cuja origem não se distinguia por causa da penumbra que reinava no subsolo, perguntou:
- Quais são os mudos arcanos que os mortos tentam nos comunicar das profundezas da terra?
O dr. Green virou a cabeça e, como não visse ninguém, deu uns passos levantando a lamparina. Então se fez visível a figura de um homem incomensurável. Tinha a forma e a compleição de uma montanha, uma cabeça de dimensões incrivelmente pequenas e uma expressão de pacífica e infinita tristeza. Presa ao tornozelo, levava uma corrente grossa em cujo extremo havia uma bola de ferro.
Sem prestar-lhe atenção, o professor Green começou a descrever o pathos característico do recém-chegado, quando, inesperadamente, aquela massa esticou um braço e a mão gigantesca abarcou a totalidade do diâmetro da cabeça do professor Green. Os alunos apavorados viram como o levantava no ar e o afastava de seu caminho. Quando o soltou, o professor desabou no chão. O visitante abriu passagem entre os discípulos paralisados de horror, soltou a mulherzinha, tomou-a nos braços com delicadeza de mãe, passou por cima do corpo espasmódico do dr. Green e voltou a se perder nas trevas.
Como lhe disse antes, sou apenas a terça parte de uma monstruosidade. Parece que tudo em nós está dividido em partes iguais, embora, no dizer dos matemáticos, de modo inversamente proporcional. À fama pública de minhas irmãs opõe-se meu absoluto anonimato. À sua beleza incomparável opõe-se a minha desmedida feiura. À sua frívola estupidez contrapõe-se - e não tome esta última afirmação como mostra de soberbia, pois não a apresento como uma virtude, mas como o exato contrário - a minha insuportável inteligência, que me atormenta e me aflige como uma doença. À sua loquacidade exasperadora - raiando a grosseria, pois parece que não podem fugir da tentação de interromper compulsivamente seus eventuais interlocutores - opõe-se meu forçado mutismo. À sua falta de escrúpulos, a minha excessiva tendência ao remorso, como se eu estivesse condenada a carregar todo o peso de seus crimes atrozes - e já lhe estou fazendo uma confissão, pois tampouco me declaro inocente - em minha própria consciência.
Meu querido doutor, o senhor é o primeiro a saber de minha existência; se me conhecesse e comparasse minha pessoa com as de minhas irmãs, talvez se inclinasse a supor que, assim como as riquezas, existe no universo uma determinada quantidade de beleza que, como tudo, está dividida de modo injusto. Para cada pontinho da pele lisa, suave e perfumada de minhas irmãs, para cada um de seus modestos poros, posso contar, na superfície da minha, o mesmo número de pústulas crônicas e quistos sebáceos, de furúnculos em flor e de chagas malcheirosas. Para cada um de seus cabelos louros e ondulados, posso contar a metade no escasso pelame carcomido e murcho que deixa transluzir meu couro cabeludo seborréico e salpicado de crostas de pele morta. Desde que aprendemos a falar, era notável nelas uma certa tendência a se pronunciar em uníssono, o que, por certo, levaria a supor uma consequente unicidade de pensamento, para chamar de alguma maneira o que governa o movimento de suas línguas.
O que estou prestes a lhe revelar - talvez o mais escabroso que o senhor terá de escutar - tem apenas o objetivo de protegê-lo. Nestas alturas talvez esteja perguntando contra quem. Pois agora mesmo vou lhe responder: contra minhas irmãs e, por conseguinte, contra mim. E a próxima pergunta que com certeza o senhor formulará é por que deveria se cuidar.
Meu querido dr. Polidori, não vá supor que minha monstruosidade consiste unicamente em minha extrema feiura. Não. Não ignoro sua vastíssima erudição. O senhor sabe que existem pessoas cuja sobrevivência depende da apropriação de “algo” de seus semelhantes, mesmo quando a consecução desse “algo” pode acabar com a vida do eventual semelhante. Conhece a lenda negra da condessa Bátory, que - segundo se diz - precisava do sangue de suas vítimas para conservar sua juventude. Provavelmente, mediante essa suposição, a condessa justificasse o prazer doentio que lhe causava ver o sangue brotar de suas belas criadas, assim como presenciar o espetáculo da morte no decorrer dos tormentos desumanos aos quais as submetia.
Acontece, meu querido dr. Polidori, que minha própria sobrevivência e, por conseguinte, a de minhas irmãs, depende da obtenção de “algo” que o senhor possui. Não imagina o quanto eu devo resistir à tentação, pois, vou logo lhe dizendo, em pouco tempo minhas irmãs e eu estaremos agonizando, se nos faltar “aquilo” de que o senhor é dono.
Mas me parece prudente concluir por hoje minhas confissões. Já lhe disse muito e estou exausta. Este verão será bastante longo. Despeço-me até muito breve com uma súplica: cuide-se.
Annette Legrand
À beira do desespero, John Polidori fez um rápido inventário de tudo o que lhe pertencia. Seu patrimônio não superava os minguados excedentes do salário que, pontualmente, recebia de seu lorde. Não tinha propriedades: de seu pai herdara apenas a submissão congênita e o pobre destino de estar irremediavelmente condenado à servidão. Assim como seu pai, Gaetano Polidori, fiel secretário do poeta Vittorio Alfieri, não fora agraciado com o dom da escrita, não podia esperar o doce ditado das musas, mas o da grave voz de seu lorde, cuja inspiração parecia andar mais depressa que sua mão. Era dono, isto sim, de uma inveja surda e corrosiva. Quantas vezes, enquanto transcrevia as obras ainda inéditas de Byron, o assaltara a ideia de plágio. O que é que ele podia ter? Não era dono de nada, nem material nem espiritual, que o mais simples dos mortais não tivesse.
Um crepúsculo cinza-amarelado levantava-se atrás do Mont Blanc, cuja coroa de neve se perdia mais para lá das nuvens. O Léman apresentava o aspecto de um prado devastado. O sol, mancha difusa e apenas visível, irradiava uma luz fria que igualava, numa vaga cor outonal, o vermelho dos telhados com o verde dos álamos, o cinza das rochas com o ocre da areia. Caía uma chuva violenta. Tinha chovido sem parar durante a noite inteira.
John Polidori despertava de um sono frágil e interrompido. Vinha daquela fronteira difusa que separa o sono leve da vigília. Transitava nesse limiar em que os desejos têm a materialidade do concreto e a realidade é apenas uma vaga incerteza. De acordo com o extraordinário concerto de percepções e devaneios, o secretário tinha duas certezas. A primeira, que durante a noite, antes de dormir, escrevera uma história do princípio ao fim, de cujo conteúdo ele não se lembrava com clareza, embora o tranquilizasse a irrefutável evidência - bastava abrir os olhos - de que os manuscritos descansavam em cima da escrivaninha. A segunda, que tivera um pesadelo horrível a respeito de uma carta, de cujo conteúdo macabro podia lembrar-se. Um sonho ruim. Só isso. E alegrou-se profundamente com essas duas convicções. Espreguiçou-se, esticando os braços e arqueando as costas. Com carícias deliciosas e merecidas, coçou a cabeça fazendo um remoinho de cabelo em torno do dedo indicador. Um levíssimo, imperceptível sorriso se insinuava nas comissuras de seus lábios. Havia escrito o conto perfeito. Lembrou-se da discussão que tivera com seu lorde uns dias antes, quando Polidori fizera saber a Byron que entre ambos não havia nenhuma diferença. E lembrou-se, agora sim, com um franco sorriso, da resposta ferina de seu lorde:
- Eu posso fazer três coisas que você jamais conseguiria: cruzar um rio a nado, apagar com um balaço uma vela a vinte passos de distância e escrever um livro do qual se vendam catorze mil exemplares num dia.
Pouco importavam a Polidori as habilidades físicas. Mas aquele livro que acabava de escrever fazia umas poucas horas iria sobreviver - não duvidava - à celebridade efêmera de seu lorde. Os críticos não se enganavam. Byron era um escritor medíocre, cuja fama não tinha outra razão além dos escandalozinhos que criava em torno de si. Em compensação, para os homens da envergadura de John William Polidori - pensou o secretário -, para eles era feito o marmóreo pedestal da glória. Aquele livro que acabava de concluir ia vender, não catorze mil exemplares, mas vinte e oito e até trinta mil num só dia. Animado por essa convicção, feliz e risonho, acordou.
No mesmo tempo que separa um abrir e fechar de olhos, John Polidori descobriu sua própria farsa, esse grato mas efêmero engano com que volta e meia os sonhos nos iludem.
Desesperado, andava de um lado para outro de seu quarto. Furioso e apavorado, apertava a carta de Annette Legrand, empenhado em esquecer os negros augúrios epistolares e, sobretudo, em se lembrar do conteúdo da história com que havia sonhado. Mas quanto mais se obstinava em juntar os difusos vestígios do conto, mais eles se esfumavam em sua memória. Pensou conservar um traço, um brevíssimo vestígio que iria pô-lo no caminho certo. Mas, quando achou o papel e a pena, descobriu que esse restinho era como o rastro efêmero de uma estrela fugaz. Nada. A história com que sonhara tinha se esvaído como água em suas mãos. Nada. Polidori afundou numa angústia inédita, inconsolável. Se a perda de um objeto precioso ou, mais ainda, a de uma pessoa amada eram fatos decerto irremediáveis, pelo menos podiam ser parcial e deficientemente substituídos pela saudade, pela incompleta embora doce substância da nostalgia; mas aquilo que Polidori acabava de perder e que era, além disso, seu mais profundo desejo, não tinha nem sequer o consolo da recordação.
Nesse estado de ânimo, saiu do quarto.
Byron amanhecera de péssimo humor. Tinha a expressão transtornada e uma terrível ruga no cenho. Não pronunciou uma palavra quando cruzou com seu secretário no salão. Nem respondera ao cumprimento de Ham. Andou até a véranda e sentou-se contemplando a chuva. Tomou sozinho, e de costas para o salão, o café da manhã.
Polidori, furioso consigo mesmo, tentava em vão se lembrar do conto com que sonhara. Imaginava estar percebendo um leve lampejo do sonho quando, a suas costas, trovejou um alegre “bom-dia”. Com a ligeireza de uma gazela, Percy Shelley atravessou o salão e foi ao encontro de Byron. Puxou uma cadeira e sentou-se ao lado de seu amigo. Polidori ignorava que estranho magnetismo exercia sobre seu lorde aquele jovem desinibido, de hábitos e modos mais próximos da espontaneidade do vulgo que do protocolo a que Byron era tão apegado. Nas mesmas circunstâncias e levando em conta o ânimo com que amanhecera, se qualquer outra pessoa tivesse ousado interromper o íntimo e inexpugnável ensimesmamento de seu lorde, teria se exposto ao desaforo mais ofensivo. Entretanto, do salão pôde ver como o semblante de Byron ia se descontraindo até o sorriso enquanto conversava com Shelley. Polidori odiou o intruso com toda a força de sua alma e com a agravante, é claro, de que tinha sido ele o responsável pela interrupção da lembrança do sonho, bem no instante em que ia chegando a sua memória.
Mary se levantou por volta do meio-dia. Estava preocupada - assim comunicou a Shelley - com a saúde de Claire, que, falando em sonho durante a noite, dissera umas coisas horrorosas. Percy Shelley parecia saber perfeitamente do que se tratava. Mary não quis repeti-las, mas lhe manifestou que não estava disposta a continuar dividindo o quarto com sua meia-irmã. Falava num sussurro, como se quisesse evitar que Byron a escutasse. Polidori, que por acaso permanecia do outro lado da porta, era testemunha invisível da conversa. Claire não quis sair da cama. Não tinha tomado café da manhã e se negava a almoçar. Percy Shelley mostrava mais tédio do que preocupação. Por instantes - e cada vez com mais frequência -, tinha a convicção de que fora uma loucura incluir Claire na fuga. Percy Shelley havia tramado a fuga junto com Mary, a filha de seu professor William Godwin. Como resistia em conceber que isso fosse uma traição, justificava-se renegando seu mestre. A seu ver, Godwin já não era aquele sábio herege que tinha escrito Investigação sobre a justiça política; já não era aquele que tinha se pronunciado abertamente contra o casamento e inclusive contra o concubinato, razão pela qual jamais viveu sob o mesmo teto com a mãe de sua filha. Não, já não era aquele, mas seu exato oposto: um homem casado, pior ainda, em segundas núpcias, e, para completar, com uma harpia, a horrenda senhora Clairmont - mãe de Claire -, uma mulher sem outros horizontes além dos estreitos limites da cozinha. Como pudera ofender desse jeito a memória de Mary Wollstonecraft? Como comparar a fervorosa autora de Vindicação dos direitos da mulher com esse espantalho doméstico que só pelo fato de existir já era uma afronta à condição feminina? Godwin já não era aquele dos ruidosos textos em favor das mudanças sociais, mas um pobre escritor dedicado agora aos contos infantis e à literatura para púberes. De modo que, pensava Shelley, fugir com a filha de seu velho professor não significava uma traição; pelo contrário, era apenas ressuscitar velhos ensinamentos e, assim, resgatá-lo, redimi-lo de sua atual prostração intelectual. Mas o que nem Mary nem ele tinham previsto era o erro que significaria incluir Claire na longa fuga que se iniciara já fazia mais de dois anos em Somers Town. Tinham deixado para trás Dover, Calais e Paris. Já não eram os três alegres fugitivos de passagem por Troyes, Vendeuvre e Lucerna. Shelley, apesar de sua infinita juventude, tinha o ânimo de um velho doente; Mary apresentava o aspecto de uma alma penada, e Claire já fazia muito tempo que se tornara um estorvo para o casal: carecia de qualquer das virtudes que abrilhantavam o padrasto e herdara sobejamente a malícia da mãe, a senhora Clairmont. Claire era uma espécie de intrusa incômoda: sua saúde delicada e, mais ainda, sua razão volúvel que, por instantes, parecia abandoná-la, tinham tornado a viagem um pesadelo e, pelo visto, a temporada na Villa não seria mais auspiciosa. Por outro lado, Byron não se mostrava de modo algum disposto a livrá-los de Claire, em cuja companhia parecia sentir-se satisfeito, embora não a ponto de ficar com ela. A bem da verdade, tudo indica que o próprio Byron também começava a mostrar um progressivo fastio por Claire. O deslumbramento que sua beleza lhe provocara começava a se empanar em contraste com o abatimento espiritual e, sobretudo, com a aridez intelectual que agora podia enxergar com absoluta transparência no espírito de Claire. Por mais que tivesse tentado enganar-se, Byron já não podia ocultar de si mesmo que, na verdade, a única coisa que o fascinara em Claire Clairmont era aquela sensualidade beirando a ninfomania e que agora parecia tê-la abandonado por completo.
Almoçaram em silêncio. Por alguma estranha razão ninguém parecia ser o mesmo depois da chegada à Villa Diodati. Polidori não conseguia livrar-se da impressão de que lhe estavam escondendo alguma coisa, embora na verdade nunca - e em nenhuma circunstância e companhia - pudesse subtrair-se dessa certeza. Talvez essa impressão resultasse apenas de atribuir a seus acompanhantes seus propósitos íntimos, já que era o próprio Polidori que estava escondendo algo. Por outro lado, um observador imparcial diria que todos estavam ocultando algo entre si. O tenso silêncio da sobremesa foi interrompido pela chegada de uma embarcação. Da mesa viram quando uma pequena lancha atracou no quebra-mar. Os quatro comensais mal conseguiram disfarçar uma inconfessável inquietação. Polidori empalideceu.
Ham foi ao encontro do visitante, que, já em terra, avançava sob a chuva até o caminho que levava à residência. Ao fim de uns minutos, Ham apareceu no salão e anunciou:
- O prefeito Michel Didier deseja trocar umas palavras com milord.
- Que entre - ordenou Byron com impaciente curiosidade.
Didier era um homem perfeitamente redondo de bochechas vermelhas; a breve caminhada lhe causara uma leve agitação asmática, um assobio agudo grudava-se a sua voz como um peixe-pegador pertinaz e monocórdio. Primeiro, o prefeito fez saber a Byron e a seus acompanhantes que cabia dar-lhes as mais calorosas boas-vindas e que, desde já, lhes desejava a mais feliz estada embora o tempo, lamentavelmente e como já tinham podido verificar, fosse um verdadeiro transtorno. Foi um longo e empolado monólogo. Embora soubesse, disse, que o ilustre visitante fosse um exímio nadador e um excelente remador, tinha a obrigação de preveni-lo do perigo que, nas atuais condições climáticas, representava aventurar-se no lago. Não queria ser dramático, mas tampouco podia deixar de lhe avisar que três embarcações tinham desaparecido nas fauces do lago. De repente, mudou a expressão circunspecta, sorriu e comentou divertido que estava a par do rebuliço causado pela presença de Lord no Hôtel d’Angleterre e que, pessoalmente, estava convencido de que fora uma sábia decisão instalar-se em Villa Diodati, fonte de inspiração de outro poeta cujo nome agora não conseguia lembrar mas que, com toda a certeza, empalideceria em comparação com o talento de Byron, de quem, assegurou, tinha um exemplar de uma obra cujo título tampouco lembrava, mas os versos eram de inigualável magnanimidade, segundo haviam comentado, porque, na verdade, confessou, ainda não tivera tempo de lê-lo, mas que ainda assim não se perdoaria se Lord abandonasse Genebra sem antes autografar-lhe o livro que, para sua desgraça, tinha se esquecido de trazer ao sair de casa. Byron tinha a impressão de que o prefeito estava metido num enrolado circunlóquio do qual não sabia como sair e que, quanto mais se empenhava em não aparentar preocupação, mais confusão ainda estava provocando com seu prólogo enigmático. Byron aproveitou a descarga de elogios para interromper o prefeito e convidá-lo amavelmente a ir direto ao assunto. Nada de alarmante, mas dois irmãos tinham desaparecido três dias antes. Tratava-se de dois pescadores, homens moços de vinte e três e vinte e quatro anos que viviam numa aldeia vizinha à Villa. Nada se sabia deles e, o mais curioso, não tinham embarcado, pois o pequeno pesqueiro estava atracado diante da propriedade onde viviam, de modo que se chegassem a ter alguma notícia, se vissem “algo”, qualquer coisa, lhes agradeceria infinitamente a colaboração. Não tinha a menor intenção de inquietá-los e muito menos de interromper o sossego da temporada, de modo que, tendo-os mantido informados, o prefeito Didier se levantou, despediu-se de modo amável e, embora ninguém tivesse mostrado a menor disposição para acompanhá-lo até a porta, pediu que ninguém se incomodasse, pois conhecia a saída. Contudo, Ham achou oportuno informá-lo de que a porta por onde pretendia sair era a que levava ao porão.
Nesse exato momento Polidori, com o olhar perdido mais para lá da véranda, pálido e trêmulo, murmurou como um autômato:
- Nos arredores do castelo de Chillon.
Disse-o em voz muito baixa mas perfeitamente audível. Didier ficou petrificado no vão da porta. Falara com tamanha certeza que parecia a confissão de um assassino. O prefeito deu marcha à ré.
- Como...? - perguntou, tentando interpor-se entre o olhar do secretário de Byron e o nada.
Polidori acabava de se dar conta do que tinha dito e, o que era pior, de que, como sempre, falara demais. Em escassos segundos pensou que não havia jeito de se retratar. Podia dizer qualquer coisa, completar a frase com alguma bobagem, mas se de fato, e tal como dizia a carta, os cadáveres fossem achados naquele local, ficaria patente não só que ele conhecia o lugar exato, mas que além disso tentara ocultá-lo. Por um instante pensou em subir até o quarto e mostrar a carta ao prefeito, mas um terror supersticioso o dissuadiu da ideia.
- Nos arredores do castelo de Chillon; vi que as aves voavam naquela direção - limitou-se a responder, enigmático e sem dar outra precisão.
Percy Shelley aproveitou que por acaso o olhar do prefeito se detinha em sua pessoa para fazer-lhe um gesto imperceptível mas significativo: fechou os olhos, negou levemente com a cabeça e levou o dedo indicador à têmpora. O prefeito fez um ligeiro gesto de assentimento. Na realidade, pensou, o homem que acabava de aventar uma premonição tão insólita não apresentava um aspecto de juízo saudável.
- Bem - disse -, considerarei a sugestão.
Quando o prefeito havia se retirado, John Polidori saltou da cadeira e, surpreendentemente, se jogou no pescoço de Percy Shelley.
- Miserável, eu vi o gesto, seu miserável lunático...
Shelley tirou-o de cima de si com a mesma facilidade com que teria se livrado de uma mosca e, num instante, o segurou pelos pulsos. Byron intercedeu em favor de seu secretário, soltando-o das mãos do poeta, o que enfureceu ainda mais Polidori. Sentia-se como uma criança: não conseguira sequer perturbar o sorriso de Shelley, e a defesa de seu lorde mais parecia um ato de piedade. Desatinado, Polidori correu pelo salão e com esse mesmo impulso se atirou da véranda para o vazio.
Byron e Shelley apareceram na balaustrada e, sob a chuva, viram o corpo desmaiado de Polidori estendido na relva. Como raios, correram escada abaixo. Quando chegaram ao jardim viram que ele respirava num ritmo agitado. Polidori chorava um pranto amargo, agudo, um pranto feito do ódio mais profundo. Tinha caído em cima dos delicados arbustos que rodeavam a casa, e o barro grosso do jardim ajudou a amortecer a queda. Tudo o que conseguiu foi torcer um tornozelo. Levantaram-no pelas axilas e o levaram para dentro de casa.
Polidori, recostado na poltrona, um pouco machucado e coberto com uma manta perto do fogo, sentia-se agora profundamente feliz. Byron lhe preparara um chá, sentou-se a seu lado e lhe acariciou a fronte. Shelley se desculpara sinceramente e Mary lera para ele, num doce sussurro, boa parte de La Nouvelle Héloise, de Rousseau.
Polidori rememorava em seu íntimo a recente proeza atlética e, sobretudo, espiritual. Byron jamais poderia gabar-se de uma façanha dessas. Saboreava de antemão a doce e demorada resposta que, quando chegasse o momento oportuno, lançaria como uma adaga no centro da petulância de seu lorde: “Posso pular das alturas sem sentir o mais leve temor por minha vida”. Por mais estúpido que fosse o resultado, estas eram as pequenas gestas que, paradoxalmente, alimentavam o orgulho de John William Polidori e, ao mesmo tempo, as que manifestavam sua recôndita devoção por Byron: comportava-se como uma namorada ressentida. Em outra ocasião, e não fazia muito tempo, tentara se envenenar com cianureto numa quantidade tal que seria insuficiente para matar um rato. Mas essas epopeias o aproximavam das alturas dos heróis românticos. E, é claro, a condição de herói não era outra senão a do martírio. Escutara Shelley dizer que o Ocidente precisava construir seus ídolos com o esterco da comiseração. Para ele, essa frase se revelara tão certa como iluminadora. Afinal de contas, era a história de sua própria vida. E agora, enquanto todos lhe prodigalizavam o merecido consolo, não podia deixar de se sentir um verdadeiro Cristo, lastimável, dolorido e expiatório. E todos se inclinavam aos pés sofredores de sua redentora figura. Para completar, sua pequena epopeia restabelecera seu decrescente prestígio: Byron lhe pedira para, quando pudesse, examinar Claire, cuja saúde o havia seriamente preocupado. Pela primeira vez se dirigia ao secretário em sua condição de médico.
À noitinha, antes do jantar, a imagem pictórica que o salão apresentava, comparável aos afrescos alusivos ao martírio, foi intempestivamente desfeita pela já recorrente visita do prefeito Didier.
Parecia absorto. Byron, não sem deixar de manifestar certo fastio, fez saber que não tinham novidades sobre o assunto que o preocupava; na verdade, disse-lhe, nem haviam saído de casa. Não queria que o prefeito tomasse conhecimento da breve incursão de Polidori pelo jardim - já podia imaginar os comentários que a notícia suscitaria na Inglaterra -, de modo que não fez o menor esforço para disfarçar que sua presença começava a aborrecê-lo. Mas o prefeito estava tão ensimesmado em sua surpresa que nem sequer reparou nas indiretas de Byron.
- Encontramos os dois corpos nos arredores do castelo de Chillon - disse, lacônico, em dissonância com a loquacidade que o caracterizara em sua visita anterior.
Todos os olhares caíram sobre Polidori. O secretário de Byron, reclinado na poltrona perto da lareira, limitou-se a levantar as sobrancelhas, torcer um pouquinho a boca e mexer a cabeça para um lado com um misto de assentimento e rejeição, de certeza e resignação, como se assim dissesse: “Eu sabia. Era óbvio. É uma pena, mas qual é a razão da surpresa?”. De súbito, Polidori descobrira que aquela carta agourenta não deixava de ter um lado benéfico. Sentia-se infinitamente importante, uma peça fundamental e insubstituível na marcha do mundo. O prefeito Didier fitava aquele homem, iluminado pelo fogo, com os olhos cheios de reverência. Sem a menor intenção de importuná-lo em sua contemplação, pediu-lhe que revelasse como tinha feito para estabelecer o lugar exato. Polidori suspirou, semicerrou os olhos e depois de um enigmático silêncio se dignou a falar. Bem, disse, na verdade, como explicar, tratava-se daquela equilibrada mistura de médico e poeta, o instinto próprio do galeno e o ilimitado voo espiritual do literato lhe proporcionavam uma espécie de olfato lírico, esse especial perfume da morte, enfim, o voo das gaivotas e as correntes do lago, era óbvio, não podia ser de outro jeito, pobres rapazes, ele mesmo se negava a dar crédito ao ditame de suas deduções mas, infelizmente, os fatos demonstravam que, mais uma vez, ele tinha razão. Polidori perdeu-se num monólogo intrincado e solene no qual se queixava de sua insuportável inteligência e de sua intolerável capacidade dedutivo-indutiva, daquela sensibilidade poética, por que não podia ser como o resto dos homens, um pouco menos complexo, um pouco mais - como dizer, sem ofender - simples? Mas, que podia fazer? Essa era a sua natureza e devia aceitá-la com resignação. Falava num tom calmo, olhando o fogo. Estava enrolado num cobertor que lhe conferia o aspecto de um sábio da Antiguidade. Shelley e Mary trocaram-se olhares atônitos, mescla de espanto e incredulidade. Conheciam pouco o secretário de Byron, mas o suficiente para saber que era incapaz de qualquer lampejo, já não de clarividência, mas do mais elementar e rudimentar processo lógico. De seu lado, Claire não tinha prestado a menor atenção ao monólogo de Polidori, embora não conseguisse disfarçar a canseira que lhe causava sua voz monocórdia e áspera, cuja profusão verbal acabaria fazendo explodir sua cabeça, já bastante maltratada por uma enxaqueca que ameaçava tornar-se crônica.
- Che sará, sará - concluiu, enigmático, desculpou- se e se retirou para seu quarto com o cansaço dos profetas depois de um transe clarividente.
O prefeito Didier despediu-se com um silêncio respeitoso. Byron acabou de se convencer de que seu secretário estava definitivamente louco.
Entrou em seu quarto absolutamente convencido da veracidade do discurso que acabava de pronunciar. Admitia que obtivera naquela carta a notícia sobre o aparecimento dos dois cadáveres. Contudo, também era certo que ele, e não outro, por motivos óbvios, fora eleito confidente daquele misterioso espírito das trevas. De súbito, o medo se transformara em agradável inquietação. Intuía que poderia tirar algum proveito dessa misteriosa correspondência. Acendeu a lamparina e olhou para as montanhas, do outro lado do lago. A pequena luz no cume voltou a brilhar. Sorriu nervoso e, não sem certa ansiedade, baixou os olhos para a escrivaninha. Com a respiração agitada e um gostoso receio, pôde comprovar que ali mesmo, junto da lamparina, havia um novo envelope preto com um idêntico lacre púrpura.
Dr. Polidori:
O que o senhor fez esta tarde foi uma verdadeira estupidez. Por milagre saiu ileso. E não posso deixar de me sentir responsável. Talvez na minha carta anterior devesse ter lhe falado de certos assuntos que lhe dariam bons motivos para permanecer vivo. Já lhe disse que há “algo” que o senhor tem que me é de vital importância. E, vou lhe falar sem rodeios, o que quero lhe propor é um negócio, pois há outra coisa que possuo e que, eu sei, é o que o senhor mais almeja. Porém, a condição para o sucesso é, em primeiro lugar, ambos permanecermos vivos e, em segundo lugar, o mais absoluto segredo. O que contou para o prefeito Didier também poderia ter lhe custado a vida. Meu querido dr. Polidori, isto não é um jogo. Já não tenho dúvidas sobre a minha responsabilidade na morte desses dois pobres inocentes. Por momentos temo não poder continuar carregando o peso do remorso. Mas vamos ao que interessa.
É hora de revelar-lhe o que é “aquilo” de que preciso para poder continuar vivendo. Assim como a água e o ar, necessito a semente que produz a vida e a perpetua através dos tempos, essa semente vital que permite que os mortos sobrevivam graças a sua descendência e que traz em si a torrente animal dos instintos, mas também a intangível leveza da alma, os caracteres de nossos antepassados e o temperamento potencial dos que nos sucederão, aquilo que está escrito na matéria do primeiro dos homens e que haverá de estar também no último e por séculos e séculos, a herança que nos condena até o fim de nossos dias a sermos o que fatalmente somos, o irrevogável legado que nos dá a vida com a mesma insondável predeterminação com que nos tira. Aquilo, enfim, que transporta em seu doce caudal o germe de tudo o que somos. Aquele fluido germinal que só vocês, os homens, possuem. O senhor já deverá ter descoberto, meu querido doutor, a que elemento me refiro. Pois é, necessito do claro elixir da vida assim como qualquer mortal necessita de alimento. Com a mesma intensidade com que qualquer de vocês precisa da água para não perecer, assim preciso beber o fluido vital. Ignoro por qual monstruosa razão a única substância que pode manter-me em vida é, justamente, o mais puro germe da vida. Dr. Polidori, o senhor pode imaginar a que terrível destino estou condenada. Já lhe disse que sou o ser mais assustador que jamais existiu na face da Terra. Além disso, caberia lhe dizer que não sou dotada da graça da sedução e que, pelo contrário, só o fato de me submeter ao olhar de um homem - coisa que felizmente jamais aconteceu - provocaria nele a mais profunda repugnância. O senhor se perguntará como pude até agora conseguir a substância vital. O senhor é um homem inteligente; com toda a certeza já terá imaginado. Também lhe disse que minha extrema feiura é inversamente proporcional à beleza de minhas irmãs. Folgo em dizer que, claro está, Bebette e Clarette me proporcionaram, à custa de sua idêntica formosura, o que minha monstruosidade me impedia de conseguir por meus próprios meios. Mas apresso-me em dizer que, se durante a vida toda assumiram esse - depende de como se considera - “ingrato” trabalho, não o fizeram movidas pelo amor fraterno nem pelo prazer que eventualmente tal tarefa pudesse lhes dar. Na verdade, se dependesse do desejo de minhas irmãs, eu já teria morrido há muito tempo. Reservo para mais adiante a revelação do motivo da vocação “humanitária” de Bebette e Clarette. É quase pública a fama de minhas irmãs. Talvez o senhor mesmo tenha escutado os mexericos que correm a respeito delas: rameiras, vagabundas, ordinárias, marafonas, sirigaitas, doidivanas, mariposas e até, pura e simplesmente, putas, são alguns dos qualificativos que lhes impingiram. Talvez tenha lido com seus próprios olhos alguns desses epítetos escritos na porta de algum banheiro público de Paris. E pouco há de verdadeiro. Não poderia dizer que existe nelas uma inclinação natural para a promiscuidade. Contudo, é provável que, por causa da tarefa quase cotidiana que as obrigava a sair para conseguir o elixir da vida, tenham terminado tomando gosto ou ficando viciadas. Mas isso são efeitos, e não causas.
Agora que já lhe revelei o que é aquilo que o senhor possui, impõe-se que lhe fale da história de minha família. Descendo de uma antiga família protestante. Quiseram os extraordinários avatares do acaso que meus longínquos ancestrais emigrassem da França para a Inglaterra e, mais tarde, da Inglaterra para os Estados Unidos. Meu pai, William Legrand, homem de frágil equilíbrio espiritual, dilapidou tantas vezes quanto refez a fortuna que havia herdado. Nasceu em Nova Orleans e ali cresceu sem outras preocupações além das que pode ter um jovem de condição abastada.
Ao morrer meu avô, meu pai, vítima de uma das pestes mais devastadoras que a América sofreu - refiro-me à letal febre do ouro -, dilapidou até a última moeda que herdara na busca de suas quiméricas ilusões. Sem outra companhia além da de seu fiel criado - que, por outro lado, era o único que o mantinha com os pés na terra-, instalou-se na solitária ilha de Sullivan, perto de Charleston, na Carolina do Sul. Sabe Deus como, ao fim de dois anos voltou para Nova Orleans transformado num dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Mas sua fortuna durou tanto quanto o tempo que separa o relâmpago do trovão: entusiasmado com sua boa estrela, investiu a totalidade de seu capital numa expedição alucinante ao inóspito Yukon, onde, para rematar, por um triz não perdeu a vida.
Mas como se seu destino tivesse sido selado pela mesma sorte de Lázaro, milagrosamente haveria de se soerguer, outra vez, da mais negra miséria. Quando tudo parecia indicar que aquele era o fim definitivo da fortuna ancestral dos Legrand, certa manhã bateram em sua porta. Um lacônico cavalheiro de aspecto medieval e cara de pássaro que se apresentou como notário foi notificá-lo de que, não havendo descendentes diretos nem testamento, ele, William Legrand, sobrinho-neto de um desconhecido André Paul Legrand, falecido havia pouco na França, era o único herdeiro de todos os bens do ignorado defunto, a saber: uma discreta mansão no coração de Paris com todas as suas obras de arte, joias e mobiliário e uma soma de dinheiro suficiente para que pudessem viver folgadamente, pelo menos, as três gerações seguintes.
Tendo em vista que já nada o prendia à cidade de Nova Orleans - não tinha família e seu afetuoso criado, Júpiter, que nem nas piores circunstâncias o teria abandonado, estava morto -, meu pai resolveu que seu novo destino iria ser a terra de seus ancestrais. A decisão não demorou mais que o tempo que levou para deixar sua assinatura no documento que o notário lhe acabava de ler. No mês seguinte meu pai chegava a Paris. Durante a primavera de 17..., conheceu aquela que seria minha mãe, Marguerite, com quem se casou na primavera seguinte. Não é muito o que posso dizer sobre minha mãe, pois não a conheci. Pouco tempo depois - exatamente um ano após seu casamento -, a vida de meu pai iria se tornar um pesadelo.
Mas deixarei que o relato corra por conta própria: transcrevo-lhe aqui uma carta que meu pai escrevera a certo médico, na qual, com desesperada amargura, lhe conta o começo de minha monstruosa biografia.
Paris, 15 de março de 1747
Meu estimadíssimo dr. Frankenstein:
Estas linhas são filhas do desespero. Muito me alegraria, tendo em vista o longo tempo em que não mantemos contato, falar-lhe de questões mais agradáveis. Contudo, devo confessar-lhe que, se decidi me impor o silêncio durante estes três últimos anos, foi justamente por causa do miserável curso que, inesperadamente, minha vida tomou. Peço-lhe que me ajude, pois já não me restam forças para continuar carregando essa cruz. Preciso de seu sábio conselho e, sobretudo, de sua nobre discrição. Esta carta é ao mesmo tempo uma confissão, uma tentativa de expiar culpas e um pedido. Talvez sua sabedoria de médico encontre uma saída para o sinistro labirinto em que, nestes últimos três anos, se transformou minha existência. O que vou lhe relatar é o mais assustador que poderia acontecer com um homem. Não me julgue como a um pobre louco; ainda, pelo menos por ora, não o estou. Faço votos para que Deus me anime a lhe enviar esta carta ao concluí-Ia, embora eu muito receie que o pudor me impeça de fazê-lo. Na última, eu lhe dava a boa nova de que Marguerite estava grávida. Lembro com que felicidade lhe contava o acontecimento, pois era um desejo longamente acalentado por ela e por mim. Tudo andava às mil maravilhas e não havia motivos para supor outra coisa que não o mais auspicioso desenlace. Sei que o senhor está ao corrente de que minha mulher morreu durante o parto por causa de certas complicações inesperadas e também sei que está informado de que, enquanto sua vida se apagava, numa heroica renúncia e no limite de suas forças, pôde dar à luz duas lindas gêmeas. Mas essa é só uma parte da história. Existem outros acontecimentos que ainda ninguém conhece e que jamais me atrevi a revelar, pois são tão terríveis e inexplicáveis que, vítima do espanto, não soube como proceder nem a quem recorrer.
Tentarei contá-los com tantos detalhes quanto me permitam minha memória e meu pudor.
Durante a gélida madrugada de 24 de fevereiro de 1744, minutos antes de um relâmpago metálico anunciar a proximidade da tormenta mais assustadora que este século tem na memória, Marguerite - que acabava de entrar no sétimo mês de gravidez - acordou sobressaltada. Lembro que - não sei por quê - eu tinha passado aquela noite em claro, assaltado por uma indefinível angústia que era - hoje sei - o sinal dos mais negros augúrios. Tinha a inexplicável certeza de que algo funesto ia acontecer. Como se de repente os fatos começassem a se ajustar a meus temores obscuros, minha esposa se recostou e, apoiada nos cotovelos, pensou que ia morrer de dor. Levou a palma da mão ao ventre, tal como fazem as mulheres grávidas quando pressentem a iminência do perigo. Nesse exato momento, sobrevieram dois fatos ao mesmo tempo, como se um fosse a causa e também o efeito do outro. Quando minha esposa pousou sua mão por cima da camisola, comunicou-me sua inquietante impressão de que o volume de seu ventre era incomparavelmente maior do que ao se deitar, apenas poucas horas antes; nesse mesmo instante, a casa inteira estremeceu devido a um trovão. Tentei me tranquilizar com a convicção de que tudo aquilo não passava de uma falsa impressão, produto da angustiante vigília. Na mesma hora acendi as velas do candelabro que estava em cima da mesa-de-cabeceira e, espantado, pude comprovar que de fato o ventre setemesinho, que até poucas horas antes ultrapassava o perfil do busto exíguo de minha mulher, era agora um abdômen colossal cujo volume a impedia de juntar as duas mãos por cima dele.
Jamais suspeitei que o fim abrupto do sono de minha esposa iria ser o começo do mais negro pesadelo que vai me atormentar até o último de meus dias.
Do outro lado da janela, o céu ameaçava o mundo como um ultimato; a cidade era uma sombra distante e fraca que parecia implorar piedade, cercada em cima pela tormenta e embaixo pelo rio; Paris nunca tinha visto o Sena tão furioso. As águas começavam a bater iracundas nas escadarias que levam à ribeira, até alcançarem, com sua crista de monstro, os parapeitos das pontes.
Contudo, se eu tivesse imaginado o que de mais terrível podia acontecer com uma grávida, até a fantasia mais tenebrosa teria sido benévola comparada com o que ocorreu naquela noite em que se desatou a tormenta mais assustadora de que este século tem lembrança.
Caía uma chuva violenta. Fui até a janela, desembacei o vidro com a palma da mão e pude comprovar que a cortina de água e pedras de gelo fazia com que fosse impossível enxergar mais além do peitoril, sobre o qual uns vasos com gerânios se desfaziam como se fossem quebrados a machadadas. Em frente, a catedral parecia o epicentro do dilúvio, como se a fúria de Deus se manifestasse através das tenebrosas bocas das gárgulas que vomitavam pesadas colunas de água.
Com os olhos cheios de espanto, eu olhava para minha mulher, cujo rosto, da minha perspectiva ao lado da janela, ficava escondido atrás do gigantesco promontório de seu ventre.
Os primeiros cinco minutos da tormenta já tinham feito estragos. Minha mulher gritava de dor. Desesperado, enrolei Marguerite nas roupas de cama e não sem dificuldade levantei-a em meus braços.
Pude perceber que o vestíbulo acabava de ser inundado quando senti a água subindo até meus joelhos. Recostada sobre uma velha mesa sem uso, minha esposa parecia morrer.
Os cavalos relinchavam e corcoveavam soltando um vapor branco e denso pelas narinas. Não havia meio de amarrá-los ao coche. O tempo urgia. Marguerite se contorcia de dor e já não restava muito tempo. Corri até a porta e gritei implorando socorro. Mas ninguém, rigorosamente ninguém, acudiu em minha ajuda. Era como se todos os habitantes de Paris acabassem de ser exterminados por obra de uma súbita peste. A gritaria de minha mulher logo me levou de volta ao vestíbulo. Quando entrei, vi que ela estava encostada na parede, ofegante e envolta num véu de suor gelado, tentando segurar com as próprias mãos uma cachoeira de sangue que brotava do meio de suas pernas. Em outras circunstâncias, e se não se tratasse da mulher que eu amava, teria sucumbido ao assombro que a cena me produziu. Contudo, dono de uma súbita valentia, arregacei as mangas disposto a trazer a este mundo o fruto que o ventre de minha esposa acolhia.
Com seu derradeiro alento, minha mulher, exausta e pálida devido à incessante perda de sangue, se esforçava o máximo que lhe permitia o pálido vigor de seu corpo. Impulsionado pelo instinto mais elementar, introduzi minha mão e, na mesma hora, pude apalpar a forma inconfundível de uma pequenina cabeça. Recomendei-me ao Todo-poderoso e puxei-a de dentro dela com delicada firmeza até vê-la aparecer entre aquela vertente de sangue. Quando tudo levava a crer que com um pouco mais de força eu teria aquele corpinho em minhas mãos, notei que algo estava obstruindo a saída. Girei minha mão com suavidade e então pude sentir com absoluta nitidez que, junto com a cabecinha que pendia, havia outra de idênticas dimensões. Marguerite soltou um prolongado suspiro e, para meu absoluto desespero, vi que não voltava a respirar. Vítima do mais amargo desconsolo, gritei com todas as forças de meus pulmões esperando que alguém viesse em nosso auxílio. Sabe Deus como, com minhas próprias mãos trouxe ao mundo as duas pequenas.
As meninas tinham as costas unidas por uma pústula horrorosa, uma espécie de eslabão de carne mais ou menos antropomorfo. Para meu completo pavor, vi que essa junção se agitava com movimentos próprios, se contraía e se dilatava como se estivesse respirando. Quando levantei as meninas em meus braços, elas se separaram como por acaso, sem que eu tivesse de fazer o menor esforço. Aquela coisa caiu no chão - que estava coberto de água - e deslizou, boiando, até um canto do quarto. Não pude evitar a profunda impressão de que essa entidade era animada. Tentei me dissuadir com a ideia de que seu aparente movimento correspondia apenas ao leve vaivém da água na qual boiava. Contudo, quando me detive para observá-lo mais de perto, não tive dúvidas de que aquele estranho ser estava fazendo esforços para se manter à tona. Era, pude então perceber, uma espécie de pequeno animal, como um rapa-colher, coberto por uma pele acinzentada semelhante à dos morcegos. Além disso, eu poderia jurar que essa coisa horrorosa estava me olhando. Dr. Frankenstein, imagine a cena: minha esposa agonizando no chão, esse fenômeno olhando-me com olhos cheios de hostilidade e eu sozinho, completamente só, e sem saber o que fazer. De repente tive a certeza imediata de que a causa de toda minha súbita desgraça só podia ser aquele ente sinistro que se debatia na água. Então - agarrando minhas filhas nos braços - caminhei até onde estava a entidade e, aprisionando-a entre a planta de meu pé e o chão, assegurei-me de que estava se afogando dentro d’água. Nesse exato momento notei que minhas filhas começavam a ficar roxas e não respiravam. Não custei a compreender que uma coisa era causa da outra, pois assim que levantei o pé livrando do afogamento aquela coisa, minhas filhas tornaram a respirar. Aquele pequeno monstro me mirava agora com olhos cheios de ódio. Para meu completo espanto, vi como rodava sobre si mesmo e, com a velocidade de um rato, se perdia atrás das tábuas das fundações da casa.
Minha esposa morreu. Minhas filhas, que batizei de Bebette e Clarette, cresceram saudáveis e bonitas. Aquela pequena monstruosidade perambula pelos porões da casa e raramente se deixa ver. Costumo ouvi-la andando pelo porão - a biblioteca e a adega - e só sei de sua existência por seus rastros asquerosos. Já a vi disputando comida com os ratos. Embora nunca mais tenha tornado a vê-la, sei que permanece viva porque minhas filhas ainda respiram. Muitas vezes, enquanto tentava dormir, desconfiei de sua nefasta presença espreitando-me lá da escuridão e ainda receio uma impiedosa vingança. Sei que me odeia.
Uma ama-de-leite se encarregou de alimentar as meninas e, há um ano, uma aia se ocupa da educação delas. As gêmeas cresceram cheias de saúde e são de uma beleza tão idêntica que ainda hoje custo a diferenciar uma da outra.
A carta se interrompeu abruptamente, no meio do papel. Polidori olhou o reverso da folha verificando que já o havia lido. Na página seguinte Annette Legrand retomava a palavra:
Como só a ideia da confissão o encheu de pudor, meu pai resolveu carregar o peso do segredo apenas com minhas irmãs, e a carta que começara a escrever a seu amigo ficou inacabada. Peguei-a no cesto de papéis. Agora o senhor irá compreender por que razão minhas irmãs se preocuparam em me manter com vida.
Dr. Polidori, como pode imaginar, os fatos que meu pai confessa estão cautelosamente peneirados pela vergonha e, apesar do tom de dramático mea-culpa, apenas revelam uma parte da história. E não o condeno. Mas é claro que, apesar de sua lastimável argumentação carregada de martírio, jamais irei perdoá-lo pelo fato confessado de que tenha desejado me assassinar. Na verdade, digo-lhe que não guardo profundo apreço pela vida. Se ainda não morri, é óbvio que não o devo ao amor de meu pai nem ao fraterno carinho de minhas irmãs. Conservo uma memória férrea de meus dias de infância. Não acuso ninguém de ter me condenado a uma inexistência civil de fato. A nenhuma outra coisa que não a minha própria vontade de isolamento atribuo meu absoluto anonimato. Desde muito pequena senti uma irrevogável ânsia de solidão e sempre tive uma necessidade - quase fisiológica - de permanecer em lugares escuros e silenciosos. Com meus rivais, as criaturas das profundezas, aprendi quase tudo. Com os ratos, a voraz apetência pelos livros; com as baratas, o penetrante poder de observação; com as aranhas, a paciência; com os morcegos, o sentido da oportunidade; com os camundongos, a percorrer distâncias incomensuráveis pelas entranhas das trevas. Conheço Paris melhor do que o mais orgulhoso dos parisienses. Sei de corredores e passarelas que cruzam a cidade de um extremo a outro, dos dois lados do Sena, e se o meu interesse tivesse sido o dinheiro, poderia ter roubado cem e mil vezes os tesouros napoleônicos.
Desde muito pequena senti profunda necessidade de ficar perto de minhas irmãs. Talvez por causa de nossa condição de siamesas, de nossa germinal e íntima comunhão carnal, talvez devido à ânsia de velar por sua saúde - afinal de contas, minha vida também dependia da vida delas -, jamais pude levar uma existência de todo independente, como se, de fato, continuássemos a ser uma mesma criatura dividida em três partes. De modo que, sendo ainda muito pequenas, enquanto a professora, com infinita paciência, se esganiçava ensinando o alfabeto a minhas irmãs - que por certo nunca tiveram demasiadas luzes, para não dizer que eram pura e simplesmente duas pequenas idiotas -, eu permanecia do outro lado da grade de ventilação, espiando ali da penumbra. Assim aprendi a ler e a escrever. Também desde muito pequena resolvi que meu lugar na casa era o porão: a biblioteca e, ainda mais embaixo, a adega. Meu pai tinha herdado a fabulosa biblioteca de meu tio, André Paul Legrand, cuja paixão pelos livros superava folgadamente o espaço destinado à biblioteca: o segundo andar da casa. Contudo, meu pai decidiu que aqueles inúmeros exemplares eram um verdadeiro estorvo que apenas ocupavam espaço e mandou transferir todos os volumes, sem ordem nem critério, para o porão da casa.
Era uma biblioteca bonita de verdade. Uma luz fraca que descia das claraboias em tênues e solenes cones conferia-lhe um aspecto que se diria estranhamente sagrado, uma espécie de basílica pagã, uma catedral luxuriante e dionisíaca que, em ruínas e abandonada, se oferecia - só para mim - como o pecado mais tentador. O doce perfume do papel úmido, o couro das lombadas, as folhas arrancadas às dentadas pelos ratos, os vermes e a invasão do fungo em cima da letras conferiam aos livros uma aparência de animal morto, do qual se nutriam inúmeros e antagônicos bichinhos (Dr. Polidori, quem escreve com ânsia de transcender envereda por um mau caminho). E no meio desse surdo combate, eu também, animal de carniça, queria minha parte. Foi uma luta longa e destemida contra os ratos, que pareciam obstinados em devorar exatamente a leitura que eu me reservava com mais fruição. Tinha de ser veloz, ler tão rápido quanto fosse possível, antes que meus rivais acabassem com minha leitura. Era uma luta desigual, pois devia enfrentar sozinha nada menos do que cem roedores. Bastava que um livro despertasse meu interesse para que este e não outro fosse atacado na mesma hora. E justamente os livros que mais prazer haviam proporcionado a meu espírito, aqueles que eu queria conservar com mais anseio, eram as presas prediletas de meus inimigos vorazes. Não havia esconderijo que não encontrassem nem barreira que não pudessem transpor. Foi então que descobri que, se os ratos eram mais sábios do que eu, pois então eu não tinha outro jeito senão aprender sua ancestral sabedoria. Se os livros estavam condenados a ser o sustento dos bichos, eu ia ser a mais predadora das feras. Lia dias inteiros. Cada página que terminava, arrancava-a de imediato e a engolia num só bocado. Logo aprendi a diferenciar o sabor e as variedades nutritivas de cada autor, de cada texto, de cada uma das escolas e correntes. E na minha incansável luta contra os ratos, quanto mais me parecia com eles, tanto mais, pela primeira vez, me sentia infinitamente humana. Assim como o homem, em sua evolução, passou da comida crua à cozida, da mesma maneira fiz meu progresso: de devorar, passei a comer. E, tendo em vista a vizinhança com a adega, que além do mais estava tão bem abastecida como a biblioteca, descobri que para cada autor havia um vinho e não outro.
Durante minhas primeiras refeições, almocei uma antiga edição do Quixote em espanhol; naquela mesma noite, entusiasmada com o Manco de Lepanto, jantei as Novelas exemplares e, no dia seguinte - tamanha foi a minha fascinação pela descoberta -, devorei, à guisa de café da manhã, uma bonita edição do Fidalgo Cavaleiro em francês que, decerto, tive de disputar com os ratos numa luta corpo a corpo. Prossegui com um delicioso exemplar da primeira edição dos Sofrimentos do jovem Werther e um orgiástico jantar das Mil e uma noites. Já tendo devorado os Ensaios de Montaigne, bom proveito tirei de Philippe de Commines, da marquesa de Sévigné e do duque de Saint-Simon. Guardo ainda as três últimas páginas do Decameron e as últimas de Gargântua e Pantagruel: tanto prazer me dão que resisto em terminá-las. Engoli Os beijos de Juan Segundo Everardi junto com Ariosto, Ovídio, Virgílio, Catulo, Lucrécio e Horácio. Cheguei inclusive a degustar o indigesto embora não menos delicioso Discurso do método seguido do Tratado das paixões da alma. Como o senhor há de inferir, não tenho a virtude da releitura. Entretanto, sou dona do que me atrevo a definir como memória do organismo: além do ingrato dom da memória - poderia recitar-lhe A odisseia do início ao fim -, o que não sem certa vulgaridade se costuma chamar o saber instalou-se, não em meu espírito como uma suma de conhecimentos, mas em meu corpo como um acúmulo de instintos no sentido mais animal do termo. A literatura é meu modo natural de sobrevivência. Dr. Polidori, recomendo-lhe seriamente que faça a experiência: coma o que lê.
John Polidori estava maravilhado. Muitas vezes se recriminara por sua memória curta. Quantas vezes desejara recitar esse ou aquele verso em circunstâncias que se apresentavam como propícias. Mas sua memória era conceitual, e não literal; podia lembrar-se da ideia exata, mas era impossível combiná-la com a métrica e a rima com que tal poema fora concebido. Nas vezes em que tentara cativar um eventual auditório tinha se perdido, com ridícula atitude difamatória, em supostos versos que jamais acabavam de rimar e cuja métrica transformava os hendecassílabos em longuíssimas construções de até vinte e quatro sílabas. Como havia trazido consigo A excursão, de William Wordsworth, considerou-o uma boa oportunidade para se iniciar. Leu avidamente a primeira página, arrancou-a bem na lombada, amassou-a entre os dedos e levou-a à boca. Não era fácil mastigar a ressecada matéria do papel: era duro e as arestas lhe feriam a boca. Numa primeira tentativa, não pôde nem mesmo passá-lo pela garganta. Considerava-se uma espécie de ruminante; aquele papel miserável jamais amolecia. Afinal, depois de várias tentativas abortadas pelas ânsias de vômito, conseguiu tragá-lo. Agora, enquanto a folha descia pelo esôfago, sentia-se como uma jiboia após devorar um cordeiro inteiro. Insistiu com a segunda página. A partir da quinta, aquilo lhe parecia tão fácil como beber um caldo. Já em plena gulodice, ali pela página 93, Byron abriu a porta do quarto de seu secretário de repente sem se anunciar. Ambos ficaram petrificados olhando-se um ao outro. Polidori estava com a boca repleta de papéis que ainda apareciam entre seus lábios, empapados de saliva, e segurava sobre a fralda da camisa o que restava do livro: as capas e umas folhas raquíticas. Terminou de mastigar e engoliu ruidosamente tentando disfarçar o indisfarçável. Antes de dar meia-volta e sair por onde entrara, Byron sussurrou:
- Bon appétit.
Como única resposta, Polidori soltou um arroto involuntário, seco, áspero e conciso demais para constituir uma opinião literária.
Durante minhas excursões subterrâneas topei por acaso com uma das mais incríveis descobertas que, não duvido, teve para mim o valor de uma revelação. Nos corredores adjacentes ao túnel estreito que, por baixo do Sena, liga a Notre-Dame a Saint-Germain, volta e meia me parecia estar sentindo por perto o - para mim irresistível- perfume do papel e da tinta; a julgar por sua intensidade, era de imaginar que fosse em quantidades orgiásticas. Não era, porém, o cheiro da tinta impressa, e sim o inquietante e inconfundível aroma que têm os manuscritos. Não me foi difícil achar a passagem que, enfim, me levou à fonte do perfume tão tentador. Tratava-se, pelo que pude compreender, dos porões da Livraria Editora Galliard. Diante de meus olhos eu tinha o tesouro mais deslumbrante que me foi dado ver: centenas de milhares de manuscritos que se empilhavam do chão ao teto. Demorei a perceber seu valor. Não se tratava, como seguramente o senhor vai imaginar, dos originais que tinham visto em forma de livro a luz da glória e da posteridade, mas, muito pelo contrário, daqueles que carregavam a condenação mais atroz com que se pode castigar uma obra: sobre a capa todos traziam um carimbo vermelho que rezava, lapidar, “IMPUBLICÁVEL”. Se eu pudesse lhe descrever as maravilhas que me foram reveladas naquelas páginas condenadas à morte antes de nascer... Garanto-lhe que a história das letras no Ocidente teria sido outra e mais gloriosa se tão-somente algumas dessas páginas, em vez de outras ilustres, reconhecidas e consagradas, tivessem visto a luz da publicação.
Interessada em saber quem era o desconhecido juiz das letras, aquele que decidia por nós, leitores, e pela posteridade dos textos e de seus autores, pude conhecer um dos personagens mais obscuros e extravagantes que habitaram as entranhas da terra.
O homem responsável pelo julgamento sobre os manuscritos apresentados ocupava um sórdido gabinete do subsolo da livraria. A suas costas erguia-se uma máquina de dimensões gigantescas que ocupava quase toda a superfície do andar. O juiz anônimo tinha feito, talvez, a mais escrupulosa classificação dos grandes romances universais. Contara, palavra por palavra, decompondo e numerando cada elemento sintático e gramatical, desde os longínquos contos orientais como o Genji Monogatori, de Murosaki No Shikibu, Kalila e Dimma, passando pelo Satyricon de Petrônio, A história do cavaleiro de Deus que tinha por nome Cifar, até o Quixote e as Novelas exemplares e, é claro, Bocaccio, Quevedo, Lope de Vega, Defoe e Swift, Lasage, La Fayette e Diderot. De acordo com tais modelos, tinha decomposto todos os elementos quantificáveis de cada romance - número de páginas, peso, quantidade de palavras, artigos, substantivos, adjetivos, advérbios, preposições etc. etc. etc. - e tinha calculado as médias correspondentes. Além disso, considerou os componentes não quantificáveis, o que resolveu chamar, de forma genérica, os “conteúdos espirituais” que habitavam as páginas dos livros. Decidiu também que era possível objetivar tais elementos submetendo os exemplares a diferentes tratamentos. Assim, por exemplo, os expôs ao peso de enormes prensas, a temperaturas elevadas, ao vapor, a movimentos bruscos etc., e por esse caminho descobriu que os livros que mais tinham durado na memória dos tempos eram os que, por acaso, não haviam mudado de peso após tais processos. Tomando essa peculiaridade como lei geral, idealizou aquela que resolveu chamar de máquina leitora.
Na base da máquina havia uma grande caldeira aquecida por brasas que um fornalheiro alimentava. Duas chaminés colossais subiam até mais acima do telhado da editora. O artefato apresentava uma portinhola por onde se colocava o manuscrito. O primeiro passo consistia em pesar a obra. Se o peso estava dentro das médias aceitáveis, era transportado para um contador de páginas constituído de uma roda provida de tantos dentes sucessivos quantas páginas a obra devia ter. Se o manuscrito em questão superasse os obstáculos “formais”, passava à “câmara dos espíritos”, onde era submetido ao tratamento para objetivar os conteúdos espirituais. Caso o exemplar vencesse todas as provas, era automaticamente carimbado com uma tarja azul que dizia “PUBLICÁVEL” e concluía seu trajeto num tubo comprido que o conduzia à gráfica. Se, ao contrário, o manuscrito não se adequasse a algum dos parâmetros sucessivos, caía na garganta negra de uma tubulação que desembocava nos mais profundos subsolos e era qualificado com um carimbo vermelho que dizia “IMPUBLICÁVEL”.
Na verdade, o desconhecido juiz inventara sua máquina com o único objetivo de poupar tempo e, assim, evitar o árduo trabalho de ler. Contudo, não o movia a preguiça; pelo contrário, a intenção era dispor do maior tempo possível para levar adiante seu maior desejo, a empreitada que iria justificar sua obscura existência: escrever o romance perfeito. Era, justamente, o dono da fórmula. Dez anos exigiu-lhe a redação de seu romance, que ele intitulou A chave do segredo. No glorioso dia em que lhe pôs o ponto final, tudo o que teria a fazer seria ir à gráfica com sua obra flamejante debaixo do braço. Ao fim e ao cabo, era ele o juiz. Mas não pôde furtar-se à tentação. Abriu a portinhola de sua máquina e com um sorriso satisfeito deixou que o livro seguisse seu curso. Com espanto verificou que o artefato de sua invenção, com expeditivo desdém, cuspia o manuscrito para os infernos da livraria.
O fornalheiro não teve tempo de fazer nada para impedir que o juiz entrasse, com passo decidido, dentro da máquina.
Pude ver, cheia de horror, o cadáver que jazia sobre seu próprio manuscrito nos subsolos profundos da livraria. Assim como na capa do original, sobre a testa do juiz se podia ler em letras vermelhas e lapidares: “IMPUBLICÁVEL”.
Nos primeiros anos de minha existência, levei uma vida de sossegada clausura. E era extremamente feliz. Tinha meu próprio paraíso. Tudo estava ao alcance da mão. Minhas excursões subterrâneas noturnas me permitiam deslocar-me para todas as bibliotecas de Paris e devorar os livros mais exóticos escritos em línguas distantes que aprendi a decifrar. Não necessitava da presença de ninguém. Contudo, ao chegar à idade de ser mulher, uma coisa espantosa iria acontecer em minha vida.
Da noite para o dia, com a mesma pressa repentina com que a lagarta se transforma em borboleta, algo terrível mudaria em mim. De súbito, eu me veria obrigada a abandonar a solidão feliz e completa em que me sentia tão satisfeita para ter de depender da ingrata existência de meus “semelhantes”. No mesmo dia em que me transformei em mulher, invadiu-me uma peremptória, urgente e inadiável necessidade de conhecer - no mais puro sentido bíblico - um homem. Não eram aqueles ímpetos de excitação que tão amiúde me surpreendiam; não se tratava das frequentes umidades baixas que certas leituras costumavam me provocar. Em último caso, eu sabia perfeitamente bem como me proporcionar consolo íntimo. Podia me virar sozinha e, de fato, preferia minhas próprias carícias ocasionais - ninguém podia conhecer minha anatomia melhor do que eu - à ideia de que um homem pudesse me tocar. Mas isso era completamente novo e de uma natureza puramente fisiológica: se tivesse de comparar meu estado de necessidade com alguma exigência física, me veria tentada a fazê-lo com a fome e a sede. Sentia que, se não conseguisse a presença de um homem, morreria da mesma forma que se deixasse de comer ou de beber água. E, de fato, com o passar dos dias eu iria perceber que isso não era uma metáfora. Minha saúde se deteriorou a tal ponto que afundei num estado de prostração que quase me impedia de me mexer. Como já deve estar imaginando, o estado de saúde de minhas irmãs sofria a mesma sina do meu, e à medida que minha agonia avançava a vida delas ia se apagando, na mesma proporção.
Minhas irmãs eram duas mulherzinhas lindíssimas. E sua beleza não ficava atrás de sua libertinagem ávida e precoce. Eu mesma tinha observado, do respiradouro, como se entregavam aos jogos lascivos de monsieur Pelian, na época sócio de meu pai, a quem fora confiada a educação musical das gêmeas. Monsieur Pelian costumava se aproveitar das ausências de nosso pai para visitar minhas irmãs. Como lhe digo, eram jogos, lúbricos e obscenos, sim, mas nada mais que jogos. Monsieur Pelian costumava sentar as meninas no colo - uma em cada perna -; primeiro, contava-lhes alguma historieta, decerto bastante vulgar, mas eficaz o suficiente para que ficassem vermelhas de uma suposta vergonha que, na verdade, era pura excitação. Monsieur Pelian sentia um êxtase infinito em ter diante de si duas bonequinhas lindas e idênticas, como se o paroxismo fosse provocado não mais pela beleza de minhas irmãs, e sim pela própria condição de perfeita identidade entre as duas. O jogo predileto de Pelian era o que ele decidira chamar de “jogo das diferenças”. Segundo lhe confessaram as gêmeas, suas respectivas anatomias apresentavam apenas quatro ligeiras diferenças. Como o sócio de meu pai nunca soube com absoluta certeza qual era Bebette e qual era Clarette, devia descobrir as diferenças apelando para sua perícia tátil. Começava, então, acariciando os cachos louros de minhas irmãs. Com seus dedos finos de pianista, tocava escrupulosamente, primeiro, a nuca de uma; depois, descia suave até o pescoço e, como um experiente provador, apenas roçava com os lábios a ponta da orelha - o que de imediato obrigava minha irmã a fechar os olhos, azuis e transparentes, e a soltar um imperceptível suspirar, percorria com a língua o longo pescoço egípcio até o início das costas. Depois se afastava e deixava minha irmã, de pé, tremendo como vara verde e desejando mais carícias. Aproximava-se da outra e repetia a operação com resultados idênticos.
- Até aqui não encontrei diferenças - dizia num sussurro grave, e então se preparava para continuar examinando.
Monsieur Pelian se sentava na poltrona diante do piano e puxava para si uma de minhas irmãs, instava-a, amável, a ficar de pé a sua frente e, ainda sem tocá-la, pedia-lhe que girasse. Então monsieur percorria com seus olhos ávidos primeiro o perfil doce e nascente dos seios, cujos mamilos, só pelo efeito do olhar, ficavam duros como pedra e visíveis através do vestido. Depois, e à medida que ela continuava girando, parava seus olhos naquele traseiro abundante e firme mas ainda infantil; minha irmã, então, contorcia a coluna de tal modo que suas ancas ficassem mais pronunciadas do que já eram por natureza e as oferecia a monsieur aproximando-as até seu nariz. Mas Pelian recusava e, em troca, pegava-a pelas coxas, duras e compridas, até roçar apenas, por cima do vestido, as proximidades da vulva, que nessas alturas estava totalmente molhada e quente. Assim como antes, afastava-a de si e pedia a minha outra irmã que comparecesse. Com idêntico escrúpulo, repetia a cena.
- Também não encontro diferenças por aqui - monsieur Pelian sussurrava com deliberado fastio. - Terei de continuar investigando.
Então chegava a parte mais esperada. Pedia a minhas irmãs que se sentassem uma junto da outra sobre a tampa do piano, bem devagar ia levantando as saias delas, acariciando primeiro suas panturrilhas firmes e torneadas, e, pegando um pezinho de cada uma, esfregava as duas plantas contra a verga que, nessas alturas, estava dura e latejante, visível e obscena atrás da calça que parecia não conseguir conter seu escandaloso volume. Assim, nessa posição, monsieur Pelian subia com a língua desde as panturrilhas até os pequenos lábios, que, contudo, pareciam suplicar com ligeiras convulsões as carícias que já conheciam tanto. Enquanto percorria com a língua o pequeno promontório - erguido e vermelho - que surgia, garboso, do canto dos pequenos lábios de uma, introduzia e retirava suavemente, primeiro um, depois dois e, por fim, três de seus dedos finos, alongados e diligentes nos doces antros ardentes da outra. Minhas irmãs gemiam enquanto se beijavam e se acariciavam mutuamente os mamilos. Quando estavam à beira do frenesi, monsieur se levantava, afastava-se uns passos e ficava olhando-as, ofegantes, banhadas num suor de seda e suplicantes.
- Continuo sem encontrar nenhuma diferença - dizia, contrariado. Ajeitava as roupas, dava meia-volta e se retirava. Do vão da porta, virava a cabeça e se despedia:
- Talvez na próxima lição. Pratiquem para a aula seguinte o que lhes ensinei hoje.
Fechava suavemente a porta a suas costas e assim, sentadas na tampa do piano, de pernas abertas, vulvas empapadas e mamilos suplicantes, ficavam olhando uma para a outra.
Para nós, monsieur Pelian era a única pessoa capaz de nos dar o que necessitávamos. Mas será que estávamos dispostas a revelar a monsieur Pelian minha até então desconhecida existência? Qual seria o destino das gêmeas Legrand - e, é claro, o de meu pai - se de repente se soubesse que escondiam uma monstruosa trigêmea? Como saber se as autoridades não iam decidir que meu destino tinha de ser a reclusão? A que abomináveis estudos eu não seria submetida por médicos mórbidos? Mas, o mais iminente, como convencer monsieur Pelian a se entregar a minha monstruosa pessoa? Por mais perverso que fosse o sócio de meu pai, por mais deliciosamente corrompida que fosse sua imaginação lúbrica, dificilmente chegaria ao extremo de entregar sua luxúria a um aborto da natureza, coberto por um pelame de roedor de esgotos, um monstro pestilento, síntese dos bichos mais imundos das trevas profundas. O mais provável era que monsieur fugisse correndo de nossa casa e denunciasse o aparecimento de um fenômeno horroroso ou, na melhor das hipóteses, que morresse de susto. Decidimos, com minhas irmãs, que um caminho possível era o outro jogo que costumavam jogar com monsieur: o do galo cego.
Minhas irmãs estavam de cama. No auge do desespero, meu pai estava decidido a chamar o médico. As gêmeas lhe imploraram que não chamasse e que, em troca, mandasse chamar seu sócio. Sem compreender a razão, nosso pai concordou com o extravagante pedido. Eu, de meu lado, fazia dois dias que não me mexia do respiradouro que dava para o quarto de minhas irmãs.
Meu pai voltou com monsieur Pelian, que, sinceramente preocupado, olhou para minhas irmãs, desfalecidas e pálidas, com impotente amargura. Bebette pediu a nosso pai que as deixasse um instante a sós com monsieur Pelian. Meu pai, que nunca desconfiara da honradez de seu sócio, a quem, aliás, confiara a educação de suas filhas, supôs que, como a um confessor, minhas irmãs desejassem confiar suas últimas vontades e expiar suas culpas infantis. Abraçou seu sócio e amigo e, afinal, contendo os soluços, retirou-se do quarto.
Monsieur Pelian, de pé entre as duas camas, contemplava minhas irmãs, intrigado e aflito.
- Minhas meninas - começou dizendo -, assim que seu pai me informou da grave doença acorri sem vacilar. Não sei em que poderia lhes ser útil - disse, comovido, ajoelhando-se ao pé da cama de cada uma -, não sou médico. Mas podem me pedir o que quiserem.
Bebette, não sem dificuldade, reclinou-se apoiada nos cotovelos e lhe pediu que aproximasse o ouvido de sua boca:
- Queremos brincar de galo cego.
Monsieur imaginou que, às voltas com o delírio, Bebette estava perdendo o juízo.
- Minha menina - disse, enquanto acariciava seus cachos louros -, você não sabe o que está dizendo...
- Sabemos perfeitamente o que estamos dizendo - interrompeu Clarette com uma voz alquebrada mas imperativa -, imploramos: se quiser, considere isso como uma última vontade.
- Por favor, não nos negue - suplicou Bebette, meiga, enquanto fazia aquela cara de inocente e perversa lascívia que tanto animava os instintos obscuros de monsieur Pelian.
- Mas se seu pai entrasse - murmurou o professor de piano -, imaginem, vocês assim... doentes, e eu...
- Passe o trinco na porta e venha - cochichou Bebette, apoiando o indicador nos lábios de seu professor, sabendo que monsieur já tinha concordado. Clarette pôs uma venda nos olhos de Pelian.
- Não trapaceie, não espie.
O jogo consistia em monsieur ter de adivinhar qual das duas o estava tocando. Se o professor se enganasse, tiravam-lhe uma peça de roupa. Minhas irmãs se sentaram na beira da cama e, no meio delas, monsieur.
Primeiro Bebette passou, de leve, apenas perceptível, sua língua pelo canto dos lábios de Pelian.
- Ai, sem-vergonha, reconheço seu sopro: Clarette.
Minhas irmãs não tinham forças nem para rir.
- Ah, ah, errado. Começaremos pelo paletó.
Lentamente desabotoaram, um a um, os botões do paletó, iniciando pelos de cima, e quando chegaram ao último não puderam deixar de roçar, de propósito, o volumoso promontório que começava a inchar dentro da calça. Depois, Bebette introduziu de novo seu indicador na boca do homem.
- Este dedo, sim, sem a menor dúvida é o de Bebette - disse, seguro, monsieur.
Não dava tempo de serem honestas nem estavam em condições de prolongar o jogo tanto quanto costumavam fazer, de modo que se decidiram pelo caminho mais curto.
- De novo a resposta é não. Agora serão os sapatos.
Com respiração cansada, uma lhe tirou o sapato direito e outra, o esquerdo. Segundo as regras, cada sapato devia ser uma peça isolada, mas, tendo em vista as circunstâncias, monsieur não fez nenhuma objeção. Estava realmente preocupado que seu sócio e amigo pudesse flagrá-lo, o que, por reação paradoxal, parecia excitá-lo mais ainda. Depois Clarette passou-lhe as duas mãos pelas virilhas, circundando a avolumada braguilha de Pelian, que estava alvoroçada, num dilatado palpitar.
Impressionadas com o tamanho e a galhardia daquela fera enjaulada, as gêmeas, cada uma com sua mão, a apertaram e a percorreram de um extremo a outro. Já sem ordem nem recato, jogaram-se para cima do professor de piano. Bebette sentou-se sobre sua boca e o obrigou a introduzir a língua em sua ardente morada. Clarette terminou de desabotoar a braguilha, até despir a grossa espiga de milho de monsieur, cujo diâmetro mal podia abarcar com sua boca pequena.
Foi então que me soltei da gradinha de ventilação e com minhas derradeiras forças me somei ao trio. Bebette verificou se a venda estava bem presa e se tapava direito os olhos do professor. Nesse exato momento, Clarette me ofereceu o que segurava nas mãos e então bebi até a última gota aquele delicioso elixir da vida, que jorrava quente e abundante. E, à medida que bebia, podia sentir como, de modo mágico, meu corpo tornava a se encher de vida, daquela mesma vida que trazia em seu caudal torrencial o germe da existência...
Quando monsieur Pelian tirou a venda dos olhos, eu estava de novo na minha ansiada biblioteca. Atônito, o professor pôde ver que aquelas duas pobres almas que até momentos antes desfaleciam apresentavam agora um aspecto exuberante, com os rostos corados e cheios de vitalidade.
Quando meu pai entrou no quarto e viu as filhas totalmente restabelecidas, abraçou o amigo, beijou suas mãos e esteve a ponto de ajoelhar-se para beijar-lhe os pés.
- Agora tenho a certeza de não estar enganado: você é William - disse, enigmático, monsieur Pelian, que, esgotado e confuso, não estava disposto a reiniciar o jogo.
Durante aqueles anos distantes, Pelian nos proporcionou o doce elixir da vida ignorando que era o benfeitor de nossa existência. Assim Bebette e Clarette cresceram na mesma proporção de sua beleza e logo viraram duas mulheres lindíssimas.
Na hora de seu ocaso viril, minhas irmãs também souberam tirar bom proveito do velho e já sem atrativos monsieur Pelian. O professor de piano tinha muitas e ótimas amizades nos círculos mais seletos do teatro. Apadrinhadas por ele, e apesar de as gêmeas terem melhores dotes histriônicos do que musicais, minhas irmãs puderam entrar sem maiores problemas na companhia Théâtre Sur le Théâtre, cuja sede acolhedora ficava na mansarda de um pequeno teatro dando para a rua Casimir-Delavigne.
Meu pai não via com bons olhos a incursão de suas filhas por aqueles lugares que, desconfiava, eram pouco católicos. Contudo, por instância de seu velho amigo Pelian, acabou aceitando, embora, no início, com muita má vontade. A companhia era dirigida por monsieur Laplume, homem cujo critério profissional só era empanado por sua incoercível tara pelas mulheres. E, de fato, o diretor não demorou a cair rendido diante das belezas idênticas de Bebette e Clarette. Vários anos mais moço do que monsieur Pelian, minhas irmãs logo encontraram nele o substituto perfeito para o já decrépito professor de piano.
Embora as gêmeas tivessem descoberto na nova amizade um amante fogoso e atraente com quem se sentiam satisfeitas, também era verdade que a relação possuía um aspecto utilitário: não só tinham assegurada com frequente regularidade a dose vital, mas muito depressa galgaram os quase sempre árduos degraus da dramaturgia até ocupar os lugares de primeiras atrizes. E, com toda a certeza, o tempo que levaram para percorrer o caminho desde a planície até o cume foi curto, embora maior do que seus respectivos talentos. Minhas irmãs não custaram a angariar a indignada antipatia das outras integrantes da companhia e, em proporção inversa, a fascinada admiração do setor masculino. Seja como for, sendo extremamente jovens, as gêmeas Legrand já tinham se tornado atrizes famosas. Para elas, seduzir homens não representava a menor dificuldade; pelo contrário, eram numerosíssimos os galãs que as cortejavam e, por certo, até formavam longas filas nas portas dos camarins ou se amontoavam sob as marquises à saída dos teatros. E, como o senhor já estará imaginando, o inevitável também haveria de acontecer.
Ocorre que, como era de esperar diante da fama repentina, começaram a chegar inúmeras propostas de casamento. Monsieur Laplume chegou a expulsar a pontapés os pretendentes que, carregando ramos de flores e presentes, faziam fila diante da porta do camarim de minhas irmãs. Mas, por mais que tenha se esforçado, o irascível diretor não pôde evitar que, afinal e quase ao mesmo tempo, dois galãs roubassem seus corações. As Legrand tinham se apaixonado por dois jovens irmãos.
De repente, eu me transformara no mais odioso obstáculo. Não só porque de modo algum elas se mostravam dispostas a dividir comigo o produto líquido do amor de seus namorados, como também porque o ansiado casamento se transformava, na prática, numa ilusão impossível de ser realizada. Necessariamente, e para nossa grande tristeza, éramos obrigadas a permanecer unidas. Como pensar em formar lares separados? Minhas irmãs consideraram seriamente a possibilidade de confessar a seus respectivos pretendentes tudo a respeito de minha monstruosa existência. Mas, como ter certeza de que eles não fugiriam espantados diante da revelação horrenda de que, na verdade, elas mesmas eram partes de uma monstruosa trindade? E, mesmo superando este último empecilho, como saber que tipo de descendência seriam capazes de dar a seus futuros maridos? E se, por acaso, perpetuassem na Terra uma nova raça de monstros iguais a nós? O ódio por minha pessoa tornou-se tão intenso que, não duvido, teriam me matado na mesma hora se isso não significasse o próprio fim delas. E não as culpo.
Dr. Polidori, não tenho palavras para explicar o tormento e o sentimento de culpa que isso me causou. E, digo-o sem espírito de mártir, se minha morte não tivesse consequências, eu mesma teria me tirado a vida. Mas minha intenção não é dramatizar.
Minhas irmãs tomaram a mais cruel decisão. Não tinham alternativa senão renunciar definitivamente ao amor. Mas, pela mesma razão, não podiam renunciar ao sexo. Assim, romperam intempestivamente seus noivados, sem dar explicações, condenando-se a um eterno calvário.
É minha obrigação, portanto, dizer em favor de minhas irmãs e diante dos boatos que desonram sua reputação pública, que suas vidas injustamente rotuladas de “levianas” são na verdade a face visível do ato de renúncia mais puro e difícil: a resignação ao amor. Esse ato de ascetismo paradoxal explica a fugacidade, a leviandade e a falta de compromisso em suas relações sentimentais. De modo que, se minhas irmãs se viam obrigadas a travar amizade com homens de baixo nível e sem nenhum atributo espiritual ou outro atrativo além do meramente carnal, o faziam com o único intuito de fugir do amor.
Dr. Polidori, se me permito revelar-lhe algumas intimidades da vida de minhas irmãs faço-o com o único objetivo de lavar sua conspurcada reputação. Dito isto, e estando a salvo seu bom nome e sua honra, vou me abster de ventilar outros episódios. Só me deterei nos relacionados com nossos assuntos - os meus e os seus, dr. Polidori.
Entretanto, meu querido doutor, os anos não passaram em vão. Vou poupá-la do longo relato de nossa biografia. O antigo viço de minhas irmãs foi derrotado pelo peso do tempo. Aqueles seios magníficos e empinados foram perdendo volume e consistência, até se tornarem dois pares de magros penduricalhos. Os quadris, antigos emblemas que podiam muito bem ter sido os motivos do bastião heráldico das Legrand, se transformaram em despojos adiposos. E não havia cosméticos nem loções que conseguissem disfarçar as rugas profundas que, a cada dia, se obstinavam em multiplicar-se. Os banhos de leite morno já não conseguiam apagar as manchas senis que aos poucos salpicavam a antiga pele macia e parecendo de porcelana, da qual outrora se orgulhavam: era agora um tecido estragado cuja textura era a de um paquiderme. Em pouco tempo, as dezenas de moços vistosos começaram a desertar. Os amantes mais antigos e fiéis foram perdendo o vigor viril até se extinguir por completo ou, na pior das hipóteses, morrer de velhice. Resumindo, minhas irmãs já estavam decrépitas e nem oferecendo dinheiro podiam servir-se de um homem, pois não conseguiam sequer elevar os ímpetos varonis. Por outro lado, tinham de cuidar das aparências porque, como o senhor pode imaginar, uma coisa são os boatos, sempre duvidosos e refutáveis, outra, muito diferente, é a exibição pública e indiscriminada. Dr. Polidori, tínhamos chegado à agonia, pois por semanas a fio não conseguiram trazer para casa nem uma gota da semente vital. E, conto-o cheia de pudor alheio, minhas irmãs chegaram a se fantasiar de mendigas e a se lançar pelas ruas vizinhas aos bordéis para remexer os dejetos dos prostíbulos mais miseráveis em busca de camisas-de-vênus que contivessem, pelo menos, uma gota do doce e branco germe da vida. É claro que não era suficiente: era como aplacar a sede de um beduíno perdido no deserto com uma lágrima nascida de sua própria desesperança.
Estávamos morrendo.
Paris se tornara uma cidade hostil e perigosa. A França se lembrava das gêmeas Legrand e, embora sendo como fossem, velhas e decadentes, ainda eram conhecidas pelos viandantes. E, embora a fama de sirigaitas sempre lhes tivesse conferido um certo glamour e o halo de mistério que nasce do mexerico, também não podiam exibir-se como uma dupla de velhas ninfomaníacas, desesperadas para conseguir um homem nos subúrbios parisienses. Assim sendo, na certeza de que em tais circunstâncias o mais sábio era o anonimato, resolveram sair de Paris.
A quantas humilhações não me vi submetida sempre que devíamos fazer uma viagem! Com o único propósito de não tornar pública minha monstruosa pessoa, minhas irmãs tinham comprado uma gaiola de viagem para cachorros. Quantas horas de clausura tive de padecer nessa cela que mal podia abrigar minha sofredora - permita-me a licença - corpulência! Que distâncias não suportei no porta-malas de uma carruagem ou, pior ainda, no porão infecto de um navio, viajando na ingrata companhia dos bichos!
Percorremos quase todas as grandes cidades da Europa. Minhas irmãs alimentaram a ilusão de conhecer dois galãs que pudessem nos proporcionar aquilo de que necessitávamos e aspiravam a uma vida de sossegado anonimato e feliz repouso. Tudo, enfim, a que aspira qualquer mulher solteira. Na elegante Budapeste, nosso primeiro destino, passearam à tarde suas origens francesas ao longo do Danúbio, na margem senhorial de Buda, e acabaram, à noitinha, arrastando desesperadas sua humilhação e recolhendo camisas-de-vênus nas portas dos bordéis das margens sórdidas de Peste. Em Londres, tiveram pior sorte; em Roma, foram vítimas das mais cruéis humilhações; em Madri, uma calamidade. Em São Petersburgo, por pouco não morreram congeladas. Então pensaram, com cruel e sensato discernimento, que o melhor destino a que podiam aspirar não eram as grandes cidades, mas a tranquilidade do campo: se os solitários pastores liberavam seus instintos, forçados pela abstinência obrigatória, em suas pestilentas ovelhas, como não iriam recebê-las, pelo menos, com alguma benevolência? Minhas irmãs admitiam sua decrepitude, mas por mais estragadas que estivessem, pensaram, não podiam perder na comparação com cabras fedorentas. Mas como a precaução é sempre boa conselheira, por via das dúvidas aprenderam a balir.
Assim, decidimos nos instalar numa casa linda e modesta nos Alpes suíços.
Inclino-me a pensar que a primeira vítima foi, na verdade, produto de uma trágica conjunção entre necessidade de sobrevivência e libertinagem.
O caseiro de nossa modesta residência era um homem jovem e, sem dúvida, muito bem-posto: um camponês robusto filho de galeses, cujos modos rústicos lhe conferiam um encanto quase selvagem. Derek O’Brian, este é seu nome, tinha sua casinha a pequena distância de nossa residência. Da janela, minhas irmãs costumavam contemplá-lo escondidas atrás das flores do parapeito. Talvez devido a sua inocência agreste e à relação quase arcaica que mantinha com a terra, costumava tirar a camisa para cortar a grama, coisa que despertava nossa - digamos assim - inquietação, pois tinha o dorso que parecia esculpido pelas mãos de Fídias e braços fortes que denunciavam uma solidez física de animal. Toda vez que manejava as tesouras, seus músculos se dilatavam de modo obsceno e não podíamos deixar de imaginar seu membro, que pensávamos ser tão garboso e solícito para a ereção como eram seus braços para o trabalho. Mas à natural excitação se somava a necessidade desesperada de conseguir, de qualquer maneira e de quem fosse, o fluido vital. Eu, de meu lado, por mais que tentasse distrair-me na leitura, não podia esquecer a ansiada imagem de ver surgir o branco elixir da vida com a força de uma torrente de lava vulcânica, e essa imagem me aparecia com a insistência inesperada dos maus pensamentos. E, então, ficava com água na boca só de me imaginar bebendo daquela fonte morna até a saciedade. Além do mais, a abstinência forçada me causara, assim como a minhas irmãs, uma terrível fraqueza que logo iria transformar-se em agonia, a menos que me fosse proporcionado o doce elixir.
Apesar da urgência e do abatimento, minhas irmãs tinham de agir com extrema cautela. A primeira estratégia que armaram foi, quando nada, engenhosa. De suas épocas de estrela guardavam uma velha aquarela publicitária que costumavam contemplar cheias de nostalgia. Ali apareciam jovens e deslumbrantes, nuas em pelo e beijando-se enquanto se acariciavam mutuamente os mamilos. A ideia consistia em deixar, como por descuido, um envelope com a aquarela dentro à vista de Derek O’Brian. Havia duas opções. A primeira e mais ambiciosa era que a ilustração lasciva despertasse nele o desejo pelas protagonistas da cena, as quais, embora aquilo correspondesse a épocas distantes da glória dourada, apesar do tempo que passara não deixavam de ser as mesmas para quem ele trabalhava. E assim, talvez, reconhecendo em minhas irmãs algum vestígio de seu esplendor passado, ele se renderia nas atuais pessoas de Bebette e Clarette aos encantos pretéritos da aquarela. A segunda, que, tendo em vista a abstinência forçada a que o submetia o isolamento, Derek O’Brian fosse induzido a proporcionar-se uma satisfação íntima, e então, logo em seguida e de acordo com uma astúcia sincronizada, nos apoderaríamos da preciosa matéria do êxtase.
Naquela mesma tarde, enquanto o caseiro terminava as tarefas de jardinagem, Bebette entrou na casa dele e deixou a aquarela em cima da mesa-de-cabeceira. A casa tinha um telhado de duas águas e da claraboia podia-se ver, justamente, a cama de Derek O’Brian. Já era noite quando minha irmã Bebette subiu furtivamente pela escadinha até a pequena claraboia. Clarette, segundo o combinado, apareceu na janela de nossa casa, de onde podia ver a distante silhueta de Bebette recortada contra o céu como de uma velha gata no cio.
O jovem caseiro havia tirado a roupa quando, ao se sentar na beira da cama, acendeu a lamparina e então descobriu na mesa-de-cabeceira o envelope dentro do qual aparecia parte da aquarela. Do outro lado da claraboia, Bebette pôde ver o caseiro examinando surpreso o verso e reverso do envelope e, cheio de curiosidade, tentando entender o que era a parte da figura visível no papel. Sabia que aquilo não era para ele, mas também não podia escapar da curiosidade. Puxou um pouco mais a folha e, então, acreditou reconhecer o rosto que acabava de aparecer. Custou a compreender que aquela cara vagamente familiar correspondia à de uma das gêmeas, coisa que confirmou de imediato quando, tendo puxado um pouco mais o papel, descobriu o outro rosto idêntico ao primeiro. Minha irmã Bebette viu quando Derek O’Brian ficou com os olhos brilhando iguais a duas moedas de ouro ao retirar toda a aquarela. Bebette contemplava a cena com um misto de ansiedade e excitação que se tornaram manifestas quando o caseiro se deitou na cama deixando aparecer seu membro, que começava a apontar para o norte, enquanto olhava a aquarela. Sua mão começou a deslizar com timidez e, como impulsionada por uma vontade própria, independente ou, melhor dizendo, contrária à sua, alcançou suas cegas testemunhas. Bebette sorriu com uma expressão de lascívia e apetite, enquanto umedecia os lábios com a língua assim como um animal carniceiro que se preparasse para pular sobre sua vítima depois de um longo jejum. Derek O’Brian colocou a pintura sobre o travesseiro e, com a outra mão, agora livre, começou a esfregar de leve a glande, que estava totalmente descoberta. Minha irmã, na ponta dos pés em cima da pequena cornija, levantou a saia e molhou seus dedos maiores com uma saliva espessa: com um fazia carícias levíssimas em volta do bico do peito - que estava duro e proeminente - e com o outro começou a rodear o perímetro dos pequenos lábios. Acariciava-se no mesmo ritmo com que o jovem caseiro ia e vinha com a mão em volta do grosso tarugo. Minha irmã diminuía ou acelerava o ritmo de acordo com o tempo que adivinhava na expressão de Derek O’Brian. Não queria chegar ao êxtase nem antes nem depois do caseiro. No mesmo instante em que ele se preparava para um orgasmo que se augurava prodigioso em deleites e muito profuso e abundante quanto ao desejado fluido, aconteceram dois fatos ao mesmo tempo. Por um lado, os olhos do caseiro se pousaram sem querer no Cristo que vigiava do alto da cabeceira de sua cama e, como se de repente tivesse sido flagrado em toda sua infâmia, sentiu que o dedo indicador de Deus o ameaçava, Todo-poderoso e Condenatório, de mandá-lo para o mais profundo dos infernos. Aterrorizado, o caseiro parou, jogou a pintura para os ares e, cobrindo o sexo - que num abrir e fechar de olhos retornara ao mais diminuto repouso-, começou a se benzer e a implorar perdão. Minha irmã, com uma careta de gélido desconcerto, ficou, rígida como estava, meio de cócoras, com um dedo metido em seus antros cavernosos e o outro a meio caminho entre a boca e o bico do peito. Parecia se mostrar como se dissesse: “Eis-me aqui, a completa imbecil”. Se uma escultura tivesse de representar a decadência, ali estava minha irmã, Bebette Legrand, na intempérie noturna, qual uma estátua viva e patética, com seu traseiro decrépito ao vento. Por outro lado, como se fosse pouco, Derek O’Brian, furioso consigo mesmo, bateu com toda a força de seus punhos na mesa-de-cabeceira, com tamanha decisão que o pesado castiçal foi arremessado com a violência de uma munição, até ir bater no marco da pequena claraboia. O basculante girou sobre o eixo transversal abrindo-se brutalmente, de tal maneira que bateu no maxilar de Bebette, a qual, desfalecida, caiu sobre o vidro que funcionou como um plano inclinado, fazendo com que a corpulência de minha irmã deslizasse para dentro de casa. Tesa, despenteada e na mesma posição em que estava, despencou numa queda tumultuada. O caseiro, apavorado, pôde ver aquela maldição de Deus se aproximando do céu como um cometa devastador e obsceno - pois o dedo continuava metido ali - e mal pôde proteger-se quando Bebette se espatifou em cima dele.
Minha irmã Clarette, que de nosso balcão aguardava o sinal, não entendeu a cena efêmera que se passara diante de seus olhos, mesmo desconfiando, a julgar pelo estrondo distante, que algo tinha dado errado. Correu escada abaixo, pegou o rifle que descansava sobre a lareira, cruzou a porta e, qual um guerreiro, perdeu-se na noite em direção da casa vizinha. Aquele ia ser o princípio da tragédia.
Clarette, rifle na mão, entrou na casa como um justiceiro. Às tontas, apontou para a frente e então, bem na linha de mira, pôde ver o caseiro, nu e aterrorizado, ao lado de nossa irmã Bebette, que, confusa e mal equilibrada, tentava levantar-se.
Vítimas do desespero, minhas irmãs, sem deixar de apontar para o pobre caseiro, amarraram-no pelos pulsos na cabeceira da cama e pelos tornozelos no pé. Por via das dúvidas, despenduraram o Cristo e se prepararam, como previsto, para extrair do corpo do jovem o néctar da vida.
Derek O’Brian, nu e apavorado, viu quando minha irmã Clarette aproximou o rifle de sua têmpora e, com um misto de fúria, excitação e desesperada urgência, o obrigou a colaborar. Minhas irmãs tinham se transformado, de súbito, numa dupla de ladras vulgares. Contudo, meu querido dr. Polidori, como o senhor há de imaginar, era quando nada um estranho- e decerto difícil butim. Imagino que seja fácil o trabalho de um ladrão: se nas mesmas circunstâncias uma dupla de ladrõezinhos improvisados quisesse levar dinheiro ou objetos, o senhor pode imaginar que teria sido uma tarefa simplíssima. Mesmo se a vítima fosse obrigada a revelar o local do objeto desejado, bastaria ameaçá-lo firmemente e com profunda convicção. E, de fato, desconfio que um rifle apontado certeiro para a têmpora é razão suficientemente persuasiva. Mas, de repente, minhas irmãs descobriram que o butim delas era o mais difícil. Sem dúvida, é possível subtrair objetos; podemos, inclusive, arrancar confissões, súplicas ou lágrimas. Mas como se apoderar daquilo que nem sequer está governado pela própria vontade da vítima? As mulheres - e nisso não me incluo - podem simular prazer e até um paroxismo real. Mas a vocês, homens, não lhes é permitida a simulação. Como conseguir uma ereção quando, por qualquer motivo, a vontade de seu sócio se nega a acompanhá-lo na empreitada? E muito menos ainda vocês podem simular a dádiva do maná viril. Pois era justamente essa a situação a que Derek O’Brian se viu confrontado: quanto mais o ameaçavam para entregar o precioso tesouro, menos ele podia acatar tais pedidos, e, longe de alcançar ao menos uma ereção modesta, apresentava uma vergonhosa inutilidade, que transformou aquele magnífico guerreiro ereto, que até minutos antes se erigia brioso e rampante como um leão, numa espécie de roedor tímido que mal tirava a cabeça da toca de seu peludo púbis. Minhas irmãs compreenderam que quanto maior fosse a pressão sobre o jovem caseiro, menores seriam as possibilidades de conseguir o que queriam. De fato, não se pode dizer que o panorama que se apresentava aos olhos de Derek O’Brian fosse propriamente voluptuoso: duas velhas fora de si, uma apontando para ele como para um foragido, e a outra, machucada e atordoada, passeando à deriva pelo quarto, batendo de bruços nas paredes. Clarette resolveu mudar de estratégia. Primeiro se certificou de que as cordas que prendiam os pulsos e os tornozelos do caseiro estavam firmemente amarradas, depois deixou o rifle apoiado na parede, andou até o espelho e se observou muito tempo. Ajeitou um pouco os cabelos e, embora não fosse sua intenção, logo sentiu o velho desejo sensual com que costumava arrumar-se diante do espelho do camarim quando, na primavera de sua vida, se preparava para entrar em cena. Acreditou ver naqueles olhos claro s- agora marcados pelas pálpebras cheias de rugas - algo da antiga sensualidade. Baixou seu olhar até o busto e pensou que, apesar do rigor dos anos, não estava tão mal assim, e, em último caso, aquele corpete que apertava onde sobrava e enchia onde faltava dava-lhe uma aparência - por ilusória que fosse- nada desprezível. Sentada como estava, cruzou uma perna sobre a outra e levantou as saias até o alto das coxas. Não era benevolente consigo mesma: viu, sim, as carnes flácidas que pendiam sobre suas pregas, observou as gorduras agora ocupando o lugar vazio das carnes firmes que outrora conferiam a suas pernas a beleza da madeira torneada e, apesar da devastação implacável produzida pelo passar dos anos, reconheceu-se naquela sílfide que tinha sido. Pensou que se seu próprio e impiedoso julgamento - que costumava atormentá-la com a implacável severidade da nostalgia - mostrava-se agora um tanto condescendente, então, por que ela não haveria de provocar ainda, no mínimo, um pequeno rescaldo de seu fulgor passado? Sentada como estava, girou na cadeira para o jovem caseiro que a observava com certa curiosidade e acreditou ver em seu olhar um quê de apetite. E não se enganava.
Derek O’Brian examinava-a não sem certa aprovação. Clarette sentiu-se subitamente bela. Sabia, no íntimo, que sempre fora mais bonita do que Bebette. Só um idiota ou um cego poderia confundi-la com sua gêmea. Olhou para Bebette, que tentava recuperar a compostura, com sincera compaixão. De fato, o caseiro nem sequer tornara a observar Bebette, mas em compensação passava os olhos nas pernas nuas que Clarette lhe oferecia. Minha irmã afastou os joelhos e, olhando nos olhos de Derek O’Brian, primeiro acariciou as coxas e depois esticou um braço até alcançar o rifle que descansava encostado vertical contra a parede. Acariciou o cano da arma, deslocando agora seu olhar para o membro do caseiro - que parecia começar a ressuscitar- e logo baixou o cabo do rifle até o púbis, apertando-o entre as pernas enquanto passava a língua pela boca do cano da arma. Nessa posição se bamboleava como se montasse num cavalo trotando, suave e vagarosa. Derek O’Brian recobrara algo de sua recente expressão quando, momentos antes, contemplava a velha aquarela. Minha irmã Clarette, vendo que o “sócio” do caseiro retornava ao reino dos vivos, levantou-se, andou até a cama, ficou de joelhos e, como se rendesse um preito profano, tomou-o nas mãos e passou sua língua da base à glande e da glande à base. Bebette, que começava a se compor, olhou a cena, atônita e descrente. Clarette, sem soltar sua presa, ergueu os olhos e mirou nossa irmã não sem certa malícia, como se lhe dissesse o seguinte: “Eu, Clarette Legrand, consegui o que você, velha e insulsa irmã, jamais poderia conseguir”.
Clarette sentiu entre as mãos uma convulsão que parecia sísmica. Rápida e precisa, enrolou o troféu no lenço que trazia consigo e só então, como um vulcão furioso, jorrou a lava branca e desejada. Quando cessaram os estertores, Clarette pressionou ainda mais para extrair até a última gota. Já com o fluido da vida depositado no fundo do lenço, Clarette deu um nó nas pontas e guardou o virtual tesouro entre suas roupas. Derek O’Brian ainda tremia como vara verde quando, de repente, abriu os olhos. Como se acabasse de passar do sonho mais agradável ao pesadelo mais atroz, viu aquela dupla de velhas decrépitas, vorazes e rapineiras que riam, satisfeitas, como hienas. Derek O’Brian sentiu um nojo profundo que se manifestou em náusea irrefreável. Primeiro pediu que o soltassem, depois amaldiçoou-as com toda a força de seus pulmões e jurou denunciá-las e espalhar aos quatro ventos que as Legrand eram rameiras espertalhonas.
Trouxeram-me, pressurosas, o néctar roubado. Bebi até me fartar e à medida que o fluido da vida descia por minha garganta, a alma me voltava ao corpo até me restabelecer de vez. Da casinha do outro lado da residência chegavam os gritos e as maldições de Derek O’Brian.
Então minhas irmãs perceberam o fato incontestável de que se, realmente, o jovem caseiro falasse do que acontecera, os boatos que corriam a respeito delas iam ser definitivamente confirmados.
E assim, cheias de vitalidade e animadas por uma só convicção, rifle na mão, voltaram até a casinha de Derek O’Brian. Quando o caseiro tornou a vê-las, irrompeu em novas e mais terríveis maldições. Bebette levantou o rifle até a altura de seus olhos, apontou para o centro da testa do jovem caseiro e disparou.
Aquele ia ser o início de uma série demencial de crimes.
Inclino-me a supor que minha irmãs jamais se consideraram uma dupla de assassinas. Matavam com a mesma naturalidade inata com que o tigre enfia suas garras na medula da gazela. Matavam sem ódio, sem sanha. Matavam sem piedade nem espírito de redenção. Matavam sem método nem cuidado. Não sentiam remorso nem prazer. Matavam de acordo com as leis da natureza: simplesmente porque tinham de viver. De repente, nos convertemos ao nomadismo. Chegávamos a uma cidade ou a um povoado, minhas irmãs elegiam as vítimas, obtinham o butim, matavam, tornavam a matar e então partíamos para um novo destino. Já lhe disse o tormento que significavam para mim esses deslocamentos. Em compensação, parecia que minhas irmãs estavam felizes com sua nova vida. Viajar causava-lhes imensa excitação. No correr de um ano viajamos mais do que o senhor em toda a sua existência. O acaso nos levou do extremo ocidental até o extremo oriental da Europa, de Lisboa a São Petersburgo; de norte a sul, dos reinos nórdicos até a ilha de Creta. Conhecemos as terras mais exóticas dos dois lados do Atlântico, dos confins dos mares do Sul e das margens do oceânico rio da Prata até os Estados Unidos da América. Confesso que não poderia contar, nem mesmo por aproximação, o número de mortos que deixamos atrás de nossos passos.
Dr. Polidori, no que me diz respeito, devo confessar-lhe que já não posso continuar carregando o peso do remorso. Nem do cansaço. Já sou um monstro velho. Se me decido a contar-lhe minha existência é porque sei que no mais recôndito de nossas almas nos parecemos. Sei que podemos nos ser mutuamente úteis. O que tenho para oferecer-lhe em troca do que já sabe é o que seu coração sempre desejou. Amanhã lhe entregarei. Agora tenho de dormir, já não me restam muitas forças.
Terá notícias minhas.
Annette Legrand
A luz distante no alto do morro se apagou.
John William Polidori releu as últimas linhas da carta. De novo foi assaltado pelo pânico. Era, porém, um medo ambíguo. Imaginava os cadáveres achados nos arredores do castelo de Chillon. Sem querer, impôs-se a seu pensamento a imagem de Derek O’Brian de pés e mãos amarrados à cama, nu, com a testa furada e boiando no próprio sangue. Mas agora, descobriu, a carta macabra não o atemorizava; pelo contrário, a única coisa que, imaginou, podia salvá-lo da voracidade assassina das gêmeas Legrand era justamente essa monstruosa entidade. Apesar da situação, no mínimo unilateral, que se evidenciava na última carta, Polidori confiava na possibilidade de tirar algum proveito disso. Mas ficou pensando se por acaso Annette Legrand saberia o que o seu coração mais desejava. Nutria a esperança supersticiosa de que soubesse. Não sentia o menor pudor em exibir suas misérias mais recônditas; pelo contrário, estava disposto a pôr a nu todas as suas ruindades inconfessáveis. De repente, Polidori descobriu que a trigêmea abominável não só poderia preservá-lo da morte como também, mais ainda, poderia mudar sua insignificante existência.
John Polidori dobrou a carta e guardou-a no envelope. Com a ansiedade dos apaixonados, esperava que terminasse o dia - que ainda não tinha começado - para receber a carta seguinte. Nem cogitou da hipótese de dormir. Não imaginava o que Annette Legrand fazia para que as cartas aparecessem em cima da escrivaninha, embora soubesse que a condição era não ser vista. Assim sendo, caso ela se decidisse a lhe deixar alguma correspondência, o melhor era que John Polidori abandonasse o quarto.
Quando o secretário ia descendo para o salão, do patamar da escada deparou com um quadro de mau agouro: o recinto estava iluminado por um candelabro mortuário que brilhava fraco no centro da mesa. A cabeceira norte, flanqueada por duas armaduras, era ocupada por Lord Byron, e a oposta, por Percy Shelley, enquanto, nas laterais, uma defronte da outra, estavam sentadas Mary e Claire. A estranha luz que vinha das brasas da lareira se harmonizava com a que emanava do candelabro, conferindo à cena um toque de conciliábulo de bruxos. Os olhos de Byron brilhavam com um esplendor malicioso que Polidori desconhecia. Claire, com a cabeça estranhamente erguida, as palmas sobre a mesa, parecia, segundo os caprichos do vaivém das chamas, ora estar com os olhos arregalados, ora bem fechados. De sua perspectiva no alto da escada, Polidori não podia ver o rosto de Mary, embora percebesse sua respiração agitada. Percy Shelley perdera sua sempiterna expressão de alegre sarcasmo e parecia um tanto assustado. Diante de Byron, havia um livro aberto. Com uma voz áspera, grave, que seu secretário jamais havia escutado, seu lorde leu:
“De repente, levantou-se a dama, a deliciosa Christabel!... A noite está fria; o bosque está nu; é o vento que está gemendo na solidão? Cale-se, palpitante coração de Christabel! Jesus, Maria, amparem-na! Cruzou os braços sob o manto e desliza mais para lá do carvalho. O que é que viu ali?”.
Polidori notou que Shelley empalidecia. Um tremor indisfarçável obrigou-o a agarrar-se à cadeira. Byron continuou:
“Sob a lâmpada, a dama se inclinou e olhou lentamente ao redor; depois, prendendo a ofegante respiração, como num estremecimento, soltou sob o peito seu cinto; o vestido de seda e a camisa caíram a seus pés e apareceram - olhem-nos! - seus seios e a metade de seu dorso, visão de pesadelo...”.
Nessa exata passagem da leitura do Christabel, de Coleridge, Percy Shelley lançou um grito dilacerante, pulou da cadeira e correu desesperado e alvoroçado até cair, entre convulsões e frases ininteligíveis, aos pés de Byron. Como puderam, os três o levantaram e o levaram para o sofá. Shelley estava delirando. Banhado num suor gelado, com o olhar perdido em suas próprias alucinações, descrevia as visões pavorosas que a leitura de Byron havia desencadeado. Falava de uma mulher cujos seios tinham no centro, em vez de mamilos, olhos ameaçadores.
Polidori, testemunha invisível, desfrutava com infinito prazer o triste espetáculo dado por aquele que fora o jovem imperturbável e cético que se gabava de seu ateísmo e agora, aterrado, deixava em lamentável evidência seu frágil espírito supersticioso. Então, o secretário de Byron resolveu entrar em cena. Saboreava de antemão o gosto da vingança. Ele, o pobre lunático, segundo as considerações de Shelley, era agora o médico, aquele que tinha de socorrer esse lamentável traste sofredor com pretensões a poeta.
- O que são esses gritos? - John Polidori prorrompeu do alto da escada, com a atitude de um sábio importunado.
Byron suplicou-lhe que fizesse alguma coisa por seu amigo. Polidori correu escada abaixo e com aparatosa preocupação - que, é claro, revelava sua grandeza espiritual capaz de esquecer as ofensas - inclinou-se diante do pobre coitado. A intervenção do dr. Polidori teve efeito imediato. No mesmo instante em que estava prestes a segurar o punho do doente com o objetivo de controlar sua pulsação, o olhar perdido de Shelley pousou acidentalmente no secretário de Byron. Na mesma hora voltou a si.
- Não deixem que esse verme miserável me toque com suas mãos asquerosas! - proferiu o “doente”, enquanto se punha de pé e se afastava com repugnância.
Evidentemente, o orgulho de Shelley era mais forte do que os poderosos efeitos do absinto.
- Não sabe o que diz... - murmurou Polidori ao ouvido de seu lorde.
- Sei perfeitamente o que digo! - Shelley vociferou enquanto ajeitava as roupas e com passo firme tornava a ocupar seu lugar na mesa. - Continuemos nosso assunto - concluiu, como se nada tivesse acontecido.
Mary se aproximou, abraçou-o por trás das costas e cochichou:
- Seria melhor que fôssemos descansar...
- Disse que estou perfeitamente bem. Continuemos a leitura.
Mary obedeceu e sentou-se à mesa. Byron, temendo nova crise de seu amigo ou, o que seria pior ainda, de seu secretário, achou conveniente dar por encerrada a reunião. Sua posição era difícil. Tinha de ser salomônico. Se desse por terminada a leitura, seria uma deselegância com Shelley e, se continuasse como se nada tivesse acontecido, já podia ver seu secretário voando novamente pelos ares. De repente, o rosto de Byron se iluminou. Propôs dar a reunião por encerrada com a condição de que cada um dos presentes, inspirados na recente leitura de Coleridge, se comprometesse a compor um conto fantástico. Dali a quatro dias, à meia-noite em ponto, se reuniriam de novo para ler cada um dos contos.
Sem querer, Byron acabava de empurrar seu secretário para o mais impiedoso duelo: inerme e inexperiente, Polidori não tinha a menor possibilidade de sair vitorioso contra seu hábil oponente.
Quatro horas John Polidori ficou diante de um papel que se obstinava em ficar em branco. Enfiava a pena no tinteiro, remexia-se na cadeira, levantava-se, andava de um extremo a outro do quarto, voltava apressado para a cadeira como se acabasse de agarrar a frase justa, exata, que iria abrir o relato, e quando, enfim, se preparava para deitá-la no papel, descobria que a tinta já tinha secado na ponta da pena. Quando terminava de retirar a membrana que se formava na superfície do tinteiro, a frase já tinha se evaporado com a mesma volatilidade do álcool dos pigmentos. Essa cena se repetia como num pesadelo. John Polidori sabia que tinha a história; estava ali, ao alcance da mão. Contudo, por motivos que pareciam de ordem puramente burocrática e totalmente alheios a seu talento, não terminava nunca de transpor o umbral da res cogitans de sua prodigiosa imaginação para a miserável res extensa do papel. Chegou a odiar a substância ordinária daquela folha. Essa e não outra era a dificuldade: por que um espírito como o seu, habitante das alturas do mundo das ideias, devia rebaixar-se à planície do papel? O verdadeiro poeta não tinha razões para deixar rastro e testemunho dessa experiência intransferível que era a Poesia. Com essa convicção, e intuindo que muito breve alguém iria solucionar esse problema - por assim dizer - “técnico”, John William Polidori, pena na mão, dormiu profundamente sobre a escrivaninha.
A manhã começava a exibir seus pálidos esplendores pelas frestas da persiana. John William Polidori acordou por causa da dormência no braço direito e de uma dor aguda que lhe percorria a coluna vertebral de ponta a ponta. Acomodou-se na cadeira, esticou as pernas apoiando-as na escrivaninha e voltaria a dormir na mesma hora se não fosse um detalhe em que acabava de reparar: não se lembrava de ter fechado a persiana. Pensou que talvez as bandas da janela tivessem girado nas dobradiças por causa da tempestade. Mas, quando olhou melhor, concluiu que, por mais forte que o vento tivesse soprado, não havia razão para que a tranca estivesse tão bem fechada. Automaticamente dirigiu o olhar para o pé da lamparina. Tal como desconfiava, pôde ver, de novo, um envelope preto lacrado com o selo púrpura em cujo centro se distinguia a letra “L”. Pela primeira vez sentiu o sopro nefasto, material e próximo, da cilada.
Meu querido doutor:
Bom dia. Espero que esteja recuperado. Não quis importuná-lo, de modo que fui discreta. Eu o vi dormir. Parecia um anjo. Enterneceu-me vê-lo assim, com a expressão de um menino. Tomei a liberdade de afrouxar seu laçarote e tirar seus sapatos. E, a julgar pelo sorriso que em sonho me dedicou, parecia estar me agradecendo.
Polidori descobriu que, de fato, estava descalço e lembrou-se então de que na noite da véspera não tirara os sapatos. Diante do espelho verificou que o laçarote estava pendurado no colarinho da camisa. Uma náusea obrigou-o a se curvar. Com um movimento que parecia reflexo tirou-o e, pegando-o entre o indicador e o polegar, jogou-o na cesta de papéis que estava debaixo da escrivaninha. Só então, quando se aprumou, viu que diante do seu nariz, no meio da escrivaninha, ao lado do tinteiro e debaixo da pena, havia umas folhas copiosamente escritas no mesmo lugar onde, na noite da véspera, estava aquela miserável folha em branco. Por um instante duvidou se ele mesmo não teria redigido aquelas páginas antes de ir dormir. Talvez por causa do volume e por estarem tão evidentemente à vista, John Polidori custou a perceber que sobre as folhas havia um cofrezinho de prata de estilo rococó, cujas variadas filigranas convergiam no centro marcando uma letra “L”, idêntica à do lacre do envelope.
Temendo tocar em todos esses inesperados presentes, como se se precavesse contra o contágio de alguma doença mortal, Polidori resolveu solucionar o enigma com a leitura da carta.
Bem, o senhor já sabe do que é dono. Mas ainda não lhe disse o que lhe ofereço em troca do que peço. Sei que é o que mais deseja. Poderia jurar que sei com o que o senhor sempre sonhou, qual é a razão de seus desvelos e o que obnubila seus olhos nos devaneios diurnos. Posso adivinhar que o alimento amargo de que se nutre sua alma é o veneno da inveja. Sei que estaria disposto a entregar um dedo de sua mão direita por um par de sonetos rimados e até a mão inteira por um conto completo. E não duvido que entregaria a alma ao diabo por trezentas páginas discretamente redigidas. Pois bem, o que lhe peço em troca não é nada insubstituível. Nada, absolutamente nada o senhor perderia se aceitasse me entregar o que necessito para continuar viva. Não estou pedindo caridade. Tampouco lhe ofereço a imortalidade. Se bem que, talvez, o mais semelhante a ela: a posteridade. Talvez a única coisa que aprendi em minha longa existência tenha sido apenas escrever. Em troca do que necessito para continuar vivendo lhe darei a autoria de um livro que, não duvide, o fará entrar para o Olimpo da glória. O senhor galgará até o mais alto pedestal - mais alto inclusive que o do lorde a quem serve - da celebridade. As folhas que está vendo em cima da escrivaninha constituem a primeira quarta parte de um conto. Receba-as como um obséquio. Leia-as: se considerar que não valem nada, jogue-as ao fogo e não voltarei a importuná-lo (só posso falar por mim, não por minhas irmãs). Em compensação, se decidir que gostaria de dignificar a autoria com sua assinatura, então me dará em troca o que necessito. Caso concorde, nesta mesma noite lhe darei a segunda parte. Será a primeira das três entregas seguintes. E a cada entrega me servirei do senhor, em igual quantidade de vezes. O conteúdo do cofrezinho simplificará as coisas, verá.
Polidori leu com sofreguidão. O primeiro parágrafo o deixara, simplesmente, estarrecido. Aquelas linhas eram exatamente as que gostaria de ter escrito, não na noite anterior, mas em toda a sua vida. Assim, letra por letra, ponto por ponto, frase por frase, aquele era o texto que seu punho se negava obstinadamente a redigir. Não podia escapar da certeza de que era, literalmente, o conto com que havia sonhado. E ali estava, para ele, para sua glória e prestígio, para sua posteridade, o livro que haveria de alçá-lo acima da estatura de seu lorde. Enfim deixaria de ser a humilhada e anônima sombra de Byron. Enfim reivindicaria o sobrenome que seu pai, o pobre secretário, não soubera honrar.
Não era plágio, pensou, nem usurpação. Aquele texto não ia ser filho de sua própria substância? Por acaso ele não iria produzir a semente que daria vida àquele relato ainda a ser concebido? Seria, pensou, literalmente e sem metáforas, o pai da criatura.
Além disso, com que outro termo melhor do que “literário” podia qualificar-se toda essa situação? Quem iria acreditar se ele se dispusesse a revelar a verdade?
John Polidori abriu o pequeno cofre. Aspirou longamente o agradável perfume que antecipava os mais doces devaneios. Temia as alucinações do absinto. Apavorava-o o excesso sensual da cannabis. Em compensação, o ópio o mergulhava num sonho angelical. Sabia que aquilo que o assustava na cannabis não era a perda do eixo que governava sua razão, mas, ao contrário, a exacerbação de seu juízo crítico, aquela alteridade cíclica que ele mesmo descrevia como “pensamento ondulante”, no qual a uma ideia agradável - de qualquer natureza - vinha logo se opor outra de caráter punitivo contra a anterior. De sorte que, segundo Polidori deduzira, o único jeito de se livrar dessa ameaça sobre a consciência era o padecimento físico que o livrava de qualquer consideração crítica. E então ele imaginava morrer de asfixia ou de um repentino ataque cardíaco. E por mais que tentasse convencer-se de que a origem de suas dores era apenas o resultado de tal forma de pensar, as dores no peito ou a frequência incontrolável das batidas do coração que galopava com a força de um cavalo desembestado terminavam se impondo com a força da materialidade.
O ópio, por outro lado, o liberava de vez de qualquer juízo crítico sobre sua pessoa, mais ainda do que os escassos sonhos que muitas vezes se interrompiam por obra de uma angústia súbita e inexplicável. Era quando ele acordava sobressaltado e já não podia voltar a dormir nem se livrar do desassossego. Mas o ópio o jogava num sonho lúcido, embora, paradoxalmente, destituído de pensamento, numa claridade espiritual que o liberava da mediação do corpo. Era pura alma. Uma ideia. Um sonho sonhado por uma entidade perfeita.
Já era noite quando John Polidori se sentou diante da secrétaire decidido a iniciar a cerimônia. Encheu seu cachimbo com aquele dedal de ópio. Deitou-se na cama, vestido como estava, e só então aproximou o fogo do fornilho. Prendeu a tragada inicial por vários segundos, primeiro na boca, saboreando o gosto da fumaça. Contemplou as montanhas que ameaçavam, negras e pétreas, recortadas contra um céu feito de assombro. As nuvens eram cidades flutuantes que logo iriam desabar sobre o mundo. Um vento feroz revirava a copa dos pinheiros e levantava em redemoinhos velozes as folhas mortas do jardim.
No mesmo momento em que Polidori riscou o fósforo, um relâmpago iluminou o lago e logo a casa foi sacudida por um trovão.
Chovia.
John Polidori acariciou as folhas que continham o princípio do conto, reclinou-se na cadeira e esticou as pernas sobre a secrétaire. Entregou-se a um repouso sossegado e então deixou que a fumaça deslizasse por sua garganta com o mesmo vagar que governava sua respiração. Inspirava os mágicos espíritos que, em sua passagem, iam adormecendo a matéria sofrida e vil. Exalava e, então, junto com a fumaça azulada, despojava-se, como num exorcismo íntimo, dos terríveis demônios do cotidiano. Abraçou-se às folhas.
John Polidori cruzava um estranho umbral, entrava numa lúcida vigília que o transportava a alturas nunca percorridas. Ascendia por uma espiral de pedra. Logo reconheceu naquela construção a mágica Rundetaarn. Tinha a certeza inequívoca de que essa torre redonda, desprovida de escadas, só podia ser aquela cujo alto o rei Christian IV alcançava montado em seu cavalo. Então John Polidori montava um alazão de crinas de bronze até chegar ao topo, de onde dominava todos os reinos dos dois lados do Báltico. Com um ríctus magnânimo, sóbrio, dava a segunda tragada. Agora cruzava um monte de árvores negras; sobre os galhos espreitavam caveiras em cujas órbitas apareciam olhos de coruja. Não sentia o menor medo. A galope, entrava numa trilha precedida por uma tabuleta em que se lia: “Villa Diodati”. Subia as escadas do pátio montado no cavalo e entrava num grande salão: de suas alturas equestres contemplava, com um misto de compaixão e repugnância, aqueles seres minúsculos fornicando embolados e confusos qual uma miserável matilha de hienas. Lord Byron, de joelhos, banhado num suor hediondo, lambia a língua de Percy Shelley enquanto penetrava em Mary, que por sua vez mordiscava os mamilos de sua irmã Claire até fazê-los sangrar. Então, ele, o humilhado secretário, o filho do escriba, o medicastro hipocondríaco, o ridículo Polly Dolly, era agora a mão de Deus. Ungido dessa mesma piedosa ira, erguia a mão direita para o céu e do nada fazia ferro e do ferro fazia espada. O cavalo, rampante, levantava-se sobre as patas traseiras e logo iniciava uma corrida veloz sobre o tapete vermelho. Polidori cavalgava em torno daquele grupo de animais que, aterrorizados, suplicavam clemência. A galope, com a destreza de um cossaco, com uma das mãos agarrava Lord Byron pelos cabelos e com a outra empunhava a espada. Um único e certeiro golpe de sabre e a cabeça de Byron agora pendia, gesticulante e loquaz, na mão direita de John William Polidori. Os olhos miravam ora para cima ora para baixo, ora para a esquerda ora para a direita, até deparar com a imagem do próprio corpo, que, alheio a sua nova condição, não parava de fornicar com Mary. A cabeça de Byron, suspensa pelos cabelos, iniciava um solilóquio alucinado: implorava, amaldiçoava, chorava, dava gritos dilacerantes ou ria com gargalhadas alucinadas. Polidori, farto de escutá-lo, pegava um lenço, metia-o dentro da boca de seu lorde e na mesma hora guardava a cabeça no alforje da montaria.
Do andar de cima chegavam vozes que lhe pareciam estranhamente familiares. Polidori apeava, pendurava o taleigo no ombro e subia as escadas.
Os gemidos provinham - agora podia perceber - de seu próprio quarto. Entrava, mas não via ninguém.
- Eu o estava esperando - dizia uma voz feminina ardente. De súbito, a cadeira de sua escrivaninha girava e então, diante dos olhos sonhadores de John Polidori, apresentava-se uma mulher de uma beleza que ele jamais tinha visto. Estava nua em pelo, uma perna descansava sobre o braço da cadeira e a outra, sobre o pé giratório. John Polidori não tinha especial predileção por mulheres, contudo, pensou, era uma criatura mais bonita que o próprio Percy Shelley, cuja beleza, segundo confessara a si mesmo com derrotada resignação feita de objetividade, inveja e libidinosa sofreguidão, não tinha igual. Era, exatamente, a perfeita versão feminina de Shelley.
- Sou Annette Legrand - dizia, e estendia-lhe a mão cujo indicador um pouco antes descansava sobre seus lábios.
John Polidori se ajoelhava a seus pés e beijava sua mão com devoção. De dentro do alforje que trazia pendurado no ombro chegava o lamento em surdina da cabeça de Byron, que se agitava como um peixe agonizante. Annette Legrand umedecia o indicador entre os lábios e assim, com a ponta do dedo alagada numa saliva doce e transparente, traçava um caminho que se iniciava em seu mamilo - rosado e túrgido - e terminava no velo louro do púbis.
Sem dar uma palavra, Annette Legrand se levantava, beijava demoradamente os lábios de John Polidori e, pegando-o de leve por baixo das axilas, cedia-lhe a cadeira. O taleigo se agitava no chão e agora a voz suplicante de Byron começava a ficar inteligível, como se pouco a pouco fosse se livrando da mordaça do lenço. Sem deixar de olhar para sua amante, Polidori pegava o candelabro que descansava sobre a escrivaninha e o atirava, com vigorosa pontaria, para cima do alforje. O golpe fazia um ruído de osso se quebrando. Annette Legrand desabotoava, um por um, os botões da braguilha de Polidori e de lá extraía o magro, embora gracioso, troféu que tinha a aparência de um tímido cogumelo. Annette Legrand se levantava, se afastava uns passos sem se virar e estendia a John William Polidori umas folhas manuscritas em cuja capa se lia: O VAMPIRO, e, mais abaixo, segunda parte.
- Esta é minha parte do pacto - dizia com uma voz que se lhe afigurava como a corda de um violoncelo.
O secretário de Byron abraçava as folhas, cerrava os olhos e encostava a face na lombada.
- Não vai lê-lo?
- Não preciso, bastou-me ler a primeira parte.
Annette Legrand se ajoelhava aos pés de Polidori e se preparava para cobrar sua parte do contrato.
John Polidori, sem deixar de abraçar as folhas, de pernas abertas, trêmulo e ofegante, contemplou seu pequeno membro enquanto Annette Legrand o percorria com a ponta da língua. O alforje que continha a cabeça de Lord Byron - definitivamente desmaiada, tudo indicava, junto à porta do quarto - começou de novo a dar sacudidelas convulsivas acompanhadas por um balbucio surdo. John Polidori deliciava-se, postergando o pagamento, o que se manifestava em curtas convulsões que inflamavam a glande violácea. Annette Legrand sentiu entre os dedos os fluidos que iam e vinham, e, pelo visto, isso parecia apenas lhe causar uma ansiedade desesperada que logo se transformaria em tédio. E, quanto mais instava seu amante a lhe entregar de uma vez por todas sua parte do pacto, mais John Polidori, em idêntica proporção, demorava em atendê-la.
Como se contra sua vontade, o secretário, afinal, pagou. Foi uma retribuição voluptuosa, vulcânica, copiosa. Uma remuneração que Polidori achou excessiva. Annette Legrand bebia daquela fonte com uma sede que parecia de deserto. Sorvia com a mesma voracidade de um animal, de olhos arregalados, extasiada.
John Polidori continuava abraçado às folhas, com as pálpebras fortemente apertadas, tremendo como vara verde.
Ainda não tinham cessado os estertores paroxísticos quando escutou uma voz áspera, rude, que parecia vir do fundo de uma caverna. John Polidori abriu os olhos e presenciou então o espetáculo mais horrendo que jamais tinha visto: aquela mulher que momentos antes oferecera toda sua beleza a seus pés levantou-se de repente. Com espanto, John Polidori viu erguer-se diante de si uma espécie de réptil mais ou menos antropomorfo, uma pequena figura coberta por um pelame de rato. Annette Legrand afastou-se com gestos de roedor até uma gradinha que se abria na parede acima dos alicerces da casa. Levantou a tampa e, com a mesma rapidez de um rato, perdeu-se nos vazios escuros do esgoto ignorado. Polidori olhou-se com repugnância. Vomitou em seus próprios pés tudo o que suas tripas continham.
O balbucio da cabeça de Byron de repente ficou perfeitamente inteligível como se ele se tivesse liberado de vez da mordaça. O secretário pôde escutar uma gargalhada de pura malícia. Abriu os olhos e então, de pé junto ao vão da porta, viu seu lorde, de corpo inteiro, com a cabeça no lugar onde em geral costumava levá-la.
- Meu pobre Polly Dolly... - repetia Byron, sem poder concluir a frase devido aos irrefreáveis acessos de riso.
Lord Byron abriu a porta e, por cima de seus ombros, Polidori pôde ver Mary, Claire e Percy Shelley, que, rindo às raias da asfixia, contemplavam seu corpo patético: dobrado sobre si mesmo, abraçado a uma pasta, nu e emporcalhado com o conteúdo de suas próprias tripas.
Três dias ficou John Polidori trancado no quarto. Annette Legrand tivera a infinita benevolência de arranjar-lhe três garrafinhas que, com pontual assiduidade, passava para recolher durante a noite enquanto Polidori dormia após o cansativo e vergonhoso expediente de enchê-las. Em troca, e com dignidade simétrica, a trigêmea deixava-lhe as folhas correspondentes em cima da escrivaninha, ao lado da lamparina. Ao terminar o contrato, ]ohn Polidori apresentava um aspecto lamentável. Sem dúvida, o volume das garrafinhas - que, segundo haviam estipulado, deviam estar cheias até a beira - era generoso o suficiente para que o secretário ficasse totalmente astênico. Pálido, com profundas olheiras violáceas e um tremor incontrolável na mão direita, ]ohn Polidori tinha, enfim, seu conto concluído.
Leu e releu “sua” obra. Com sua letra redonda e feminina transcreveu, palavra por palavra, o manuscrito e, para que não restasse uma só dúvida sobre sua autoria, tomou o cuidado de fazer um caderno em cuja capa escreveu: “O vampiro, apontamentos preliminares para um conto”. Eram cinquenta folhas de anotações escritas com escrupuloso espírito sintético e letra perfeitamente ininteligível - para a qual, é claro, contribuiu o tremor involuntário. E tamanha era a convicção que demonstrara que até chegou a se convencer da paternidade do manuscrito. Fazia correções que, em seguida, com idêntico empenho, desfazia até voltar ao texto original.
Após três dias e três noites de trabalho de correção sobre correção, de idas e vindas, o texto final de O vampiro não diferia nem um ponto nem uma vírgula dos manuscritos primitivos. Quando foi definitivamente concluído, ele tratou de destruir, sem nenhum remorso, as provas da ignomínia: fiel aos ensinamentos da autora, devorou as páginas, uma a uma, de modo que o texto se fizesse carne.
No quarto dia, John William Polidori saiu do quarto. Estava impecável. Aquela era a noite em que, segundo o combinado, cada um devia ler, à meia-noite em ponto, a história prometida. Do alto da escada, John Polidori pôde ver o salão especialmente preparado para o acontecimento: quatro candelabros postos nos cantos do salão projetavam uma luz amortecida que mal iluminava a mesa. Pelos janelões entrava o esplendor de um céu cinza carregado de nuvens que, filtrado pelas cortinas de cor púrpura, conferia à sala um toque de câmara mortuária. Lord Byron e Percy Shelley ocupavam cada uma das cabeceiras. Mary e Claire, as laterais. Todos com seus respectivos manuscritos diante de si. Ninguém tinha percebido o olhar onisciente de Polidori, que no alto da escada continuava envolto na mais absoluta penumbra. Na verdade, ninguém esperava que o secretário comparecesse ao encontro. Polidori demorou a se dar conta de que nem sequer lhe haviam reservado um lugar na mesa. Uma indignação corrosiva atravessou-lhe a garganta. Contudo, aquele original que trazia debaixo do braço era dissuasivo o suficiente: não valia a pena descarregar sua ira nesses pobres vaidosos.
- Vejo que não me esperavam - limitou-se a dizer, amável, enquanto descia a escada com passo afetado.
Lord Byron não conseguiu articular uma palavra e cedeu-lhe a própria cadeira. Polidori pediu-lhe que voltasse a se sentar. Preferia ficar de pé. Pensou que assim acabaria sendo muito mais eloquente. As normas indicavam que uma das duas mulheres devia iniciar a leitura. Mas a excitação de Polidori era tamanha que, sem que ninguém lhe desse a palavra, abriu o caderno e começou a ler:
Naquele tempo apareceu, no meio das frivolidades invernais de Londres, nas numerosas reuniões a que a moda obriga nessa época, um lorde ainda mais notável por sua singularidade do que por sua linhagem...
John Polidori lia pausadamente, às vezes pousando seu olhar malicioso nos rostos atônitos da reduzida plateia. Sem levantar os olhos de seu lorde, continuou:
Sua originalidade fazia com que fosse convidado para todos os lugares. Todos queriam conhecê-lo e aqueles que, habituados desde sempre às emoções violentas, sentiam enfim o peso do tédio resultante da saciedade, felicitavam-se por encontrar algo que de novo despertasse seu interesse adormecido.
O obscuro secretário andava em volta da mesa enquanto lia. E ao mesmo tempo que com seus olhares manhosos procurava aumentar o impacto de suas palavras, verificava que ia provocando o exato efeito buscado: seu auditório estava cativado. As alusões a esse ou àquele dos presentes eram de tal sutileza que, se alguém se sentisse ofendido, passaria por um verdadeiro idiota.
Aubrey - leu olhando fixamente os olhos de Shelley -, deitado em seu leito de dor e possuído por uma febre devastadora, chamava, nos acessos de delírio, Lord Ruthwen - e então cravava seus olhos em Byron - e Lanthe - lia e mexia os olhos para Claire. - Às vezes suplicava a seu antigo companheiro de viagens que perdoasse sua amada...
Polidori leu ininterruptamente diante dos rostos perplexos da plateia, até o fim do conto:
...Lord Ruthwen desaparecera e o sangue de sua infortunada companheira aplacara a sede de um vampiro - concluiu.
Polidori fechou o caderno. Fez-se um silêncio sepulcral carregado de medo, espanto e respeito.
- Bem, estou ansioso para escutar os contos de vocês - disse o secretário.
Byron se levantou, pegou suas folhas e jogou-as ao fogo. Claire e Shelley o imitaram. Polidori tentou um gesto estudado de contrariedade. Então, Mary abriu seu caderno e se preparou para ler. No exato momento em que ia pronunciar o título, John Polidori, com deliberado desinteresse e o mal-intencionado propósito de ser ofensivo, interrompeu:
- Devo me desculpar, retiro-me para o meu quarto. Tenho coisas importantes a fazer.
No instante em que fechava a porta de seu quarto, teve a impressão de escutar Mary pronunciando “Frankenstein”. Riu a valer do erro de percepção.
John William Polidori era o homem mais feliz do mundo. Assim que chegasse a Londres, entregaria ao editor de Byron - nada mais humilhante para o lorde - os manuscritos de O vampiro. Entretanto, de repente se deu conta de que o texto - que estava fadado a abrir caminhos - era, apesar de sua genialidade e obscura luminosidade, pouca coisa para que seu nome ascendesse à glória da posteridade. E, enquanto contemplava o caderno raquítico - que não ultrapassava as quarenta folhas - pensou que um só conto, por mais sublime, original e novo que fosse, não era nada comparado, por exemplo, com a obra de seu lorde. Já podia imaginar as ironias de Byron a respeito das Obras completas de seu secretário. De repente, invadiu-o um desgosto mais profundo que o do lago que contemplava agora pela janela. Olhava para além da cortina de água que caía, oblíqua e incessante, e tentava distinguir a luzinha no alto da montanha. Mas não conseguiu perceber nenhum indício. Apesar da repugnância, pensou que estaria disposto a dar qualquer coisa em troca de um novo livro.
John Polidori esperava com a ansiedade dos namorados algum sinal de sua “sócia”. Todavia, durante os três dias seguintes Annette Legrand não deu nenhum sinal de vida; desapareceu com a mesma misteriosa volubilidade com que havia aparecido. John Polidori, ávido de glória, estava disposto a dar até a última gota de sua substância essencial em troca de novas histórias. Por acaso não se dizia, com sublime afetação, que os textos são filhos de seus autores? Pois então, por que não iria reconhecer a paternidade dessas obras se era literalmente seu proprietário, já que oferecia a semente vital para dar vida a cada um daqueles personagens? Era, sem metáforas, o pai de O vampiro, e agora, com generosa vocação multiplicadora e nobre espírito paternal, oferecia-se para ser o progenitor das novas, tenebrosas e magistrais criaturas da palavra. Essa certeza o livrava de todo e qualquer remorso. Decidido a galgar os píncaros da celebridade, ]ohn Polidori chegou à conclusão de que, se para alcançar esse objetivo era necessário descer antes aos miseráveis infernos da humilhação, estava absolutamente disposto a fazê-lo. Com a determinação febril de um Fausto, mergulhou a pena no tinteiro e se preparou para redigir um novo contrato.
Minha queridíssima Annette:
Você é, de fato, a criatura mais horrorosa, desprezível e vil que infelizmente me foi dado conhecer. A descrição que fizera sobre sua assustadora pessoa foi bondosa em comparação com a anatomia real que você “comete”. E o seu espírito não fica atrás. Contudo, devo admitir que o conto que me legou em paternidade é, simplesmente, sublime. Ignoro como terá feito para investigar meu espírito e desvelar o mais recôndito, obscuro e atroz de meu ser. Ninguém poderia duvidar da autoria de O vampiro, pois não é em absoluto alheio a minha biografia. Você é o próprio diabo, um diabo fedorento e assustador. Mas preciso agora de seu maldito talento assim como você precisa de meu sêmen para não perecer. Entrego-me, pois, a esse secreto casamento. Assim como um nobre senhor precisa da carne feminina para procriar e prolongar, dessa maneira, sua nobre genealogia nos rebentos de seu sangue, assim preciso da sua eterna companhia. Espero-a esta noite mesmo.
John Polidori deixou a carta perto da lamparina. Teve a elegância, porém, de colocar em cima da carta uma orquídea branca.
John Polidori acordou excitado como uma criança. Levantou-se e na mesma hora olhou para a escrivaninha. De fato, ali, no lugar de sempre, ao pé da lamparina, estava a nova carta. Abriu o envelope e com um sorriso infantil preparou-se para ler.
Querido dr. Polidori:
Quando estiver lendo esta carta já não estarei aqui. Resolvemos abandonar Genebra por motivos sobre os quais não me estenderei, embora com toda a certeza o senhor deva desconfiar. Não sabe o quanto me comove a sua proposta de “casamento”; confesso que nunca sonhei que alguém me fizesse uma proposta dessas, e menos ainda que o senhor, um jovem bonito, se transformasse em meu pretendente. Lamento não poder aceitar. Odeio os compromissos formais. Ocorre que vocês, homens, nunca estão satisfeitos com o que têm. Dê-se por satisfeito com O vampiro, que, modestamente, é obra demais para um pobre medicastro condenado a ser a sombra de seu lorde. Convença-se: o senhor não serve para outra coisa. Mesmo se escrevesse uma obra comparável à do belo Percy Shelley, não poderia deixar de ser o paupérrimo empregado filho de secretário e, se pudesse ser pai, não poderia dar ao mundo senão outros miseráveis secretários como o senhor. Não se engane, pois não tem origens nem genealogia mais nobres do que as que lhe concede a sombra de seu lorde. No mais, o que o faz supor que seu fluido vital - delicioso, decerto - é o único de que eu poderia dispor? Felizmente, existem milhões de homens neste mundo. Além disso, a paternidade é sempre o que há de mais duvidoso.
Sensibilizam-me os adjetivos com que me qualifica, embora lhe recomendaria que, em homenagem à prosa, evite o abuso deles. Chamou-me de “diabólica” e agradeço o cumprimento. Mas, justamente, devo lembrar-lhe que é o diabo quem escolhe as almas que vai comprar e jamais se interessaria pela alma de quem, miseravelmente, a colocasse à venda.
Conforme-se com o que lhe dei. Adeus, meu querido Polly Dolly.
John Polidori teve de se sentar para não cair de costas. Sempre fora vítima das mais vergonhosas humilhações. Dir-se-ia que sua natureza era só degradação; contudo, jamais se sentira tão desprezado. Chorava com um desconsolo infinito. Contemplou no espelho sua figura deplorável e pensou reconhecer em seu semblante a fisionomia de um cachorro, Boatswain, o terra-nova de seu lorde. Seu irremediável destino, conjeturou, era idêntico ao daquele animal miserável que caminhava atrás de Byron. Mas, se morresse nesse exato momento, não poderia esperar um túmulo como o que Byron construíra para seu cachorro na abadia de Newstead, muito menos o epitáfio que lhe dedicara: “Estas pedras se levantam para recordar um amigo; jamais tive outro, e aqui jaz”. John Polidori chorava agora com o pranto de um cachorro: lamentos longos e desconsolados, latidos intermináveis.
De novo voltava a ser o triste secretário, o bufão, o invisível fantasma, o filho do secretário, o médico fracassado, o desconhecido Polly Dolly.
John Polidori foi até a janela. Chovia copiosamente. Contemplou o lúgubre lago Léman e logo ergueu a vista para o alto do morro. Teve a impressão de ver uma luz tênue na casa que se confundia com os penhascos do cume. Então, de repente, seu rosto se iluminou. Correu escada abaixo com a expressão de um demente. Atravessou o salão qual uma aparição e saiu da casa. Em sua corrida, quase sem se deter, despendurara um dos fuzis que descansavam horizontais sobre a lareira. Encharcado, corria pela lama, caía, se levantava, se arrastava. Acima de sua sobrancelha escorria um fio de sangue que brotava com a mesma insistência com que a chuva o lavava. Tinha a cara rosada de sangue e água. Ia desabalado para o lago, com o desespero de um animal aquático. Chegou ao pequeno embarcadouro. As tábuas rangiam à mercê de ondas que iam e vinham, furiosas. O bote balançava. Estava disposto a assassinar aquele monstro horroroso de três cabeças. Dirigiu o cano do rifle para a margem oposta e, sem apontar para nenhum alvo em especial, disparou. Logo em seguida desfez-se do rifle atirando-o no lago antes de pular, cego de raiva, para dentro do bote. Polidori jamais iria saber que o tiro apagara a chama de uma remota lamparina.
O Léman era um bicho furioso. John Polidori remava contra a corrente. Parecia não sentir o menor cansaço. Animado pela mesma vontade perseverante dos salmões que nadam contra a correnteza, mergulhava as pás dos remos nas ondas. Remava sem habilidade nem método, de pé no meio do bote, com o olhar cravado no alto da colina que parecia distanciar-se, maliciosa, na exata medida em que o bote ia avançando. Com os olhos inundados de ódio e chuva, Polidori nem sequer tinha percebido que a água chegara à altura de seus tornozelos. O bote começava a fazer água. Transformado no Caronte de seu próprio inferno, avançava no meio daquelas águas negras que teriam feito empalidecer o marinheiro mais experiente. Literalmente, o bote voava de onda em onda, todo de banda, batia o casco fino contra os muros de água, mergulhava a proa, lançava-se para cima e para a frente, cravava a popa e tornava a voar. Então os remos se agitavam loucamente no ar. O bote se ergueu, virou a estibordo, girou sobre seu eixo longitudinal e caiu emborcado. Uma língua de água rodeou-o e num instante o lago o devorou. Polidori fora atirado a uma distância tão grande quanto o dobro do comprimento da quilha. Seu norte, sua rosa-dos-ventos, sua bússola, a estrela dos navegantes era aquela luz que brilhava, agora mais intensa, no alto da montanha. Nadava como um animal quadrúpede. Com a cabeça fora d’água, sem técnica nem critério, sem seguir nenhum estilo conhecido, Polidori avançava, porém, às vezes de banda, por momentos descrevendo insólitas e vertiginosas curvas oblongas, e até emborcado, entregue à furiosa vontade das águas. Talvez um nadador experiente tivesse morrido na mesma hora: as técnicas são construções artificiais que se impõem contra a natureza. Mas quando esta se revolta contra suas próprias leis, sobrevém a ausência de defesa. Agora, estando sua razão ofuscada, o que impulsionava Polidori não era nada além do mais puro instinto. Se de repente tivesse voltado a seu juízo perfeito, teria se afogado irremediavelmente.
Deus sabe como John Polidori alcançou a margem oposta do lago. Totalmente alheio à própria epopeia, arrastava-se sobre os rochedos que, verdes de musgo, eram tão difíceis de ser conquistados quanto sua própria lucidez. Nem sequer notou que acabava de rebater a segunda afirmação de seu lorde: certamente, cruzar a nado um rio tranquilo era pouca coisa em comparação com sua recente proeza. Afinal, chegou ao pé da montanha. Entre dois rochedos e adiante dos restos enegrecidos e ainda erguidos de uma árvore incinerada por um raio, iniciava-se um caminho tortuoso que subia pelo sopé da montanha. Nem parou para respirar. Com passo firme, escalava a pequena trilha de pedras em cuja orla se dobravam, por causa do vento, ciprestes. De sua perspectiva, John Polidori não conseguia avistar o cume, mas apenas o muro oblíquo da ladeira entre cujos rochedos caíam furiosas colunas de água que, como rápidos, arrastavam tudo o que ousava interpor-se em seu caminho. Do outro lado era o abismo. John Polidori nem reparou que adiante dos arbustos que se agitavam a sua direita começava um precipício cujo fundo se escondia sob as nuvens que a montanha atravessava. As pedras que ele pisava rolavam para a beira da estradinha e se precipitavam no abismo até se perderem naquele negrume de profundidades incomensuráveis. Agora, o lago era um campo distante, cinza e fantasmagórico, que, como um cadáver enorme, jazia sob um sudário de nuvens. O secretário chegara ao pico da montanha.
A luz que Polidori enxergava de seu quarto provinha de uma claraboia que brilhava no alto. A casa era um pequeno e antigo castelo conquistado à rocha montanhosa, uma acrópole diminuta escavada na pedra que, como um alcácer, dominava os quatro ventos de Genebra até seus confins. Portas enormes cujas ferragens medievais estavam presas na rocha precediam uma espécie de nave principal que era a continuação da ladeira da montanha. John Polidori só precisou empurrar uma das folhas da porta para esgueirar-se e entrar. Fechou a porta atrás de si. Teve de se acostumar com a escuridão para ver, apenas, por onde andava. Tateando, chegou a um recinto por onde soprava um vento ainda mais forte que o lá de fora. À medida que suas retinas iam se habituando com a penumbra, começou a se configurar diante de seus olhos uma paisagem desoladora: como uma cidadela assolada pela peste, aquele lugar fora abandonado fazia pouco tempo. Aqui e ali havia peças de roupas femininas espalhadas, restos de comida e papéis que não chegaram a se consumir no rescaldo das brasas da fogueira. Reinava um fedor confuso feito de aromas antagônicos provenientes dos diversos setores da casa que pareciam convergir naquela sala. John Polidori pôde distinguir um perfume. Foi andando e seguindo seu rastro até chegar a um quarto: duas camas idênticas cobertas de mantas idênticas, sobre cujas cabeceiras idênticas velavam Cristos idênticos. Dois criados-mudos - também idênticos - com candelabros idênticos cujas velas estavam identicamente consumidas. John Polidori saiu do quarto tentando identificar a procedência do fedor acre. Era, pensou, um cheiro nauseabundo semelhante ao que se respirava nos banheiros públicos das tabernas ou, para ser mais exato, nos prostíbulos mais sórdidos da Grécia. E teve a impressão de reconhecer nessa pestilência o cheiro dos fundilhos das próprias calças. Andava por um corredor estreito que subia e que de repente se transformou numa escada de degraus dispares terminando numa portinhola de batente baixo. Aquele quarto que havia atrás da porta era, sem dúvida, a fonte daquele cheiro irrespirável. Teve de se agachar para não bater com a testa na trave. O quarto era de dimensões mínimas e, com toda a certeza, inabitável até mesmo para um bicho. Um leito de palha diminuto e uma ínfima escrivaninha debaixo da janela: só isso. O toco de uma vela ainda queimava. Aproximou-se da janela e lá do outro lado do lago pôde ver toda a Villa Diodati e, exatamente no centro, a janela de seu quarto. Sob a escrivaninha havia um pequeno baú. Polidori pegou-o por uma das alças e abriu-o com avidez.
Eram centenas de papéis confusamente arrumados. O primeiro, verificou, era sua própria carta, a mesma que escrevera na véspera. Mais abaixo havia umas folhas que eram os apontamentos de O vampiro. Puxou o caderno e então, debaixo, apareceu um grosso maço de cartas. Reconheceu de imediato a letra da primeira, mas custou a acreditar. Quando leu a assinatura, pensou que ia morrer de susto. E ainda não tinha lido o conteúdo.
Conhecia a letra de seu lorde melhor que a do próprio punho. Mas que fazia uma carta de Byron ali, nos antros repugnantes do monstro que só ele, o sombrio Polidori, conhecia? E quanto mais lia e relia o cabeçalho, menos podia entender, como se aquelas letras claras e redondas fossem caracteres incompreensíveis de um idioma desconhecido.
Abominável musa das trevas:
Acabo de ler a segunda parte de seu Manfred - ou será que devia dizer “meu” Manfred? - e devo confessar-lhe que, se os primeiros versos eram alentadores, os seguintes são, simplesmente, cativantes. Têm um decidido tom byroniano, o que, decerto, os torna de fato deliciosos. Espero que tenha se alimentado muito bem (não pode se queixar da abundância de seu último jantar) e, a julgar por sua produção literária, meu fluido vital parece tê-la enchido de minha primorosa inspiração. O filho Manfred tem as qualidades de seu nobre pai. Gosto dele de verdade. Se continuar pelo mesmo caminho, vou acabar me apaixonando. Ignoro de onde vem seu maléfico talento, de onde tirou a voz de Manfred que, entre as paredes geladas daquela catedral gótica, sem dúvida ressoa desterrada e dramática, idêntica à minha. Essa culpa, infinita e irremissível, é o remorso antecipado que, eu sei, há de me atormentar até o último de meus dias. Não preciso lhe dizer por quê. Não li o Fausto - não sei alemão -, mas por acaso faz muito pouco tempo que meu amigo Matthew Lewis me traduziu, viva você, um longo fragmento [Esse fragmento é quase literal em relação a outro que aparece nas cartas de lord Byron a Murray. (N. A.)], e não pude evitar a mesma impressão profunda que me causou a leitura de Manfred. Como eu desejaria ser igual a seu herói e ter a mesma coragem dele diante das tentações! Mas, como vê, não posso nem sequer resistir à de aceitar a paternidade de Manfred.
John Polidori não pôde deixar de se sentir o mais imbecil dos homens. Tinha a mesma mágoa amarga e inconsolável do marido enganado. Só o confortava a ideia de que seu lorde, aquele poeta magnânimo, era tão miserável quanto ele.
Entre as quatro hediondas paredes dessa cela, remexia os papéis que se amontoavam no baú. Totalmente fora de si, introduziu os braços e, abarcando tudo o que podiam suas pequenas mãos, levantou uma montanha de papéis que voaram pelos ares: eram dezenas de cartas. Uma ficou pendurada em sua algibeira. Leu-a.
Notre (horrível) Dame:
Se de minha humilde pessoa dependesse, já lhe teria dado o ministério que hoje ocupa - ou deveria dizer “usurpa” - o ridículo conde Rasumovski [Ministro da Cultura de Alexandre I, a quem Puschkin dedica um ácido epigrama. (N. A.)], cuja monstruosidade é de uma tipologia infinitamente mais abjeta do que a sua. Gostaria o ministro de se servir do talento que a abrilhanta, embora eu muito tema que não tenha nada para dar-lhe em troca, já que nem sequer goza do vigor que ostenta nosso arquimandrita Fotij - Senhor, livrai-nos, pobres pecadores, desses pastores [Começo do primeiro dos três epigramas que Puschkin dedica ao dignitário. (N. A.)] -, que, ao que parece, mostra igual paixão pela alma dos homens e pelo corpo das mulheres. Com mais fundamentos que o arquimandrita, posso lhe dizer o mesmo que Fotij à senhora Orlov: “Que é que fez de mim, transformando em alma meu corpo?”
Li com infinito prazer a segunda parte de A dama de paus. Na verdade, é a novela que gostaria de estar escrevendo. Muito me agradaria saber como irá terminar minha história. Espero-a esta noite.
Alexander Puschkin
Havia centenas de nomes ignorados, totalmente desconhecidos. Ele se sentia o mais imbecil dos homens. Não mais porque tinha sido enganado de modo tão vil, mas porque seus rivais eram de baixa categoria, amantes sem fama nem glória nem futuro. Lia as assinaturas das cartas com o desconsolo de um nobre que tivesse sido vítima de adultério praticado por seu lacaio. Três cartas de um tal E. T. A. Hoffmann, meia dúzia de um desconhecido Ludwig Tieck. Puxava cartas esperando, pelo menos, encontrar nomes famosos; mas só encontrou ilustres desconhecidos: Chateaubriand, Rivas, Fernan Caballero, Vicente Lopez y Planes.
Com desespero remexia desordenadamente, cego de ódio, as inúmeras cartas que se empilhavam no baú. Ao acaso, puxou outra.
A carta seguinte tinha a assinatura de Mary Shelley. A leitura do primeiro parágrafo afundou-o num terror indizível; havia sido partícipe e testemunha dos acontecimentos mais horrorosos. Mas jamais tinha lido algo tão cru e sombrio. John Polidori não podia continuar lendo. As letras se transformavam em figuras ondulantes que de repente deixaram de ter qualquer sentido. John Polidori desmaiou.
Nunca mais, até o dia de sua morte precoce, iria recuperar a razão.
Poucos são os dados certos que se conhecem sobre John William Polidori durante os quatro anos que sobreviveu àquele verão que mudou o curso da literatura universal. De seu próprio diário depreende-se que o jovem médico - segundo Byron, “mais apto para produzir doenças do que para curá-las” - marchava irremediavelmente para um desequilíbrio definitivo. Aproveitando a ausência de seu lorde, o secretário entregou os manuscritos de The Vampyre em 1819. A obra foi publicada e, contrariando os prognósticos do próprio lorde, a edição se esgotou no mesmo dia em que saiu. Contudo, a obra não apareceu com a assinatura de seu suposto autor, John Polidori, e sim com a de Byron. De Veneza, indignado e furioso, Lord Byron fez chegar ao editor um desmentido categórico. Mary Shelley foi ainda mais lapidar: na advertência que precede seu romance Frankenstein, na qual relata as circunstâncias em que concebeu sua criatura, durante aquele verão chuvoso de 1816 na Villa Diodati, faz menção ao pacto segundo o qual “cada um de nós devia escrever um conto baseado em alguma manifestação sobrenatural”. No final do pequeno prólogo, Mary Shelley afirma falsamente que “o tempo melhorou de repente e meus amigos me abandonaram para se dedicar a explorar os Alpes, entre cujas magníficas paragens se esqueceram de nosso compromisso com as evocações espectrais. Por isso, o conto que se oferece a seguir é o único que chegou a ser concluído”. Por alguma estranha razão, a autora de Frankenstein resolveu omitir o nascimento de The Vampyre e ignorar, com o mais cruel silêncio, John William Polidori.
Foi justamente em seu percurso italiano, durante sua estada em Pisa, em 1821, que Byron foi notificado do suicídio de seu secretário. E lamentou-o profunda e sinceramente. Talvez tivesse sido um consolo saber que o pobre Polly Dolly fora capaz das três proezas de que nem ele mesmo teve consciência.
A história deixou evidências suficientes da existência das gêmeas Legrand. Nos livros do Hôtel d’Angleterre de Genebra ainda existe o registro de sua hospedagem. No entanto, é totalmente improvável que haja existido a suposta trigêmea escondida. Ao menos no que me diz respeito, não consegui encontrar o menor indício.
Resisto a considerar como prova o envelope preto - lacrado com um selo púrpura em cujo centro se pressente uma suposta, quase ilegível, letra “L” - que apareceu, inopinadamente, em cima de minha mesa de trabalho e que ainda não me animei a abrir.
Federico Andahazi
O melhor da literatura para todos os gostos e idades
















