



Biblio VT




Mesmo numa rua pobre, onde as casas são velhas, a vida monótona e a gente triste, pode acontecer que nela desponte a alegria. Mas, então, as pessoas estranham e fazem comentários; e foi por isso que a vizinhança se alvoroçou quando deu com Florinda a cantar e a dançar pela casa fora, toda a manhã, meio doida; a mãe pôs-se a magicar no que teria sucedido para essa brusca mudança, e a Srª Leocádia, que ouvira o despropósito da rapariga, correu a prevenir a peixeira que Florinda parecia destrambelhada e que alguém deveria acautelar os pais: as grandes doenças começam assim.
Florinda cantava, pois. E, no entanto, o que havia de novo à sua volta era apenas a voz estouvada da sua alegria. A rua era a mesma. A rua, as pessoas, os hábitos, as coisas. A mesma casa de gente pobre que tem de ganhá-lo de manhã para comer ao meio-dia, que tem de ganhá-lo de tarde para comer à noite; as mesmas alvoradas com a impaciência da mãe a furar o tabique: «São horas, Armando! São horas, Florinda!», e logo depois a carroça do lixo tropeçando na calçada e os pregões esganiçados das camponesas, que haviam largado dos campos mal o dia era um prenúncio no lombo das serranias. O pai levantava-se, tossia, o Armando dava umas voltas na cama, ainda estremunhado, a resmungar contra o velho realejo que era a mãe com a ladainha «São horas, Armando! São horas, Florinda!», enquanto a rapariga, de costas para o irmão, vestia a blusa para ir abrir a janela.
Até ao meio-dia, Florinda ajudava a mãe nas lidas da casa, antes da vinda do pai e do irmão da fábrica, donde regressavam de fugida, sôfregos do almoço e sempre rezingões. De tarde, o seu corpo fino quase desaparecia na larga cadeira de verga, resto de um esplendor dos tempos em que o pai, de corrente de ouro à ilharga, tinha sonoras prosápias, ainda com o sotaque das terras brasileiras donde viera com ares de reforma farta. Ali, na cadeira, a sua presença desfazia-se na penumbra da casa, enquanto bordava maquinalmente lençóis e toalhas para as senhoras do bairro.
Uma delas, mulher de um capitão de infantaria, conseguira-lhe emprego numa fábrica de Santa Clara. Mas durou pouco: a mãe, sempre esfalfada, sempre a carpir mazelas enigmáticas desde o parto difícil de um filho que acabou por morrer aos três anos, concluiu que Florinda, «apesar de enfezadita», lhe era indispensável nas tarefas domésticas e, por isso, preferia sacrificar os cento e cinquenta mil réis do ordenado da rapariga e tê-la ali, como companheira dos seus atormentados dias.
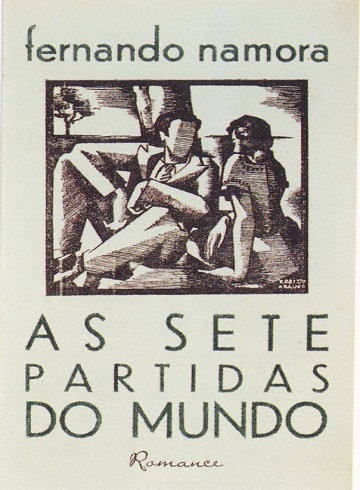
Bem medidas as coisas, esse dinheiro seria consumido na farmácia.
Florinda pensava muitas vezes, com uma saudade melancólica, nesse tempo da fábrica. Tinha os seus quês, é certo, mas havia o convívio das outras moças, as horas de folga, o riso sem motivo, mas que é bom! porque é riso, as diabruras; e ainda os passeios, ao domingo, juntas, pelo parque da cidade, seguidas pela brejeirice dos estudantes e dos soldados que vinham em grupos, ouvir a banda do regimento. Chegara mesmo a ter um namorico. Agora, «longe da vista, longe do coração», as antigas companheiras tinham-na esquecido. Estava só. Só com a sua necessidade de alegria, que não encontrava quem lhe desse a mão. As queixas domésticas, o vazio das horas, a vizinhança sem atractivos: a Srª Mariquinhas, engomadeira, gordalhufa, que passava os dias à janela a coscuvilhar a intimidade das outras casas, ferro na mão, língua pronta a retalhar a ausência das amigas, e os grandes seios, pesadões, assolapados no peitoril; a Joana Dias a berrar todo o santo dia pelo filho rufião: «Ó Alfredo! Ó Alfredo! Ó Alfredo!»; umas malucas enfermeiras, guedelhas ao vento, estendendo os braços para que da rua lhes vissem as luvas cor-de-rosa, e dormindo todas no mesmo quarto, a monte, como gente do mundo; e a pensão de estudantes. Mas nem ali, na pensão, acontecia o que quer que fosse, um apelo ao sonho ou à inquietação: nos quartos que davam para a rua havia aquele quintanista de Direito, africano enchafurdado nos livros, que nunca olhava para ela, e um velho algarvio, muito barbudo, de pálpebras roxas e martirizadas, que estava na cidade a curar-se de insónias. O estudante era mono como um espantalho, nunca reparava nela, que tinha alegria e ternura para serem desvendadas e possuídas, e o velho era uma aparição fúnebre a cuspinhar da janela a todo o instante. E nada disso mudava.
Donde vinha, então, a alegria de Florinda? Donde vinha - se até o sol se amedrontava ao passar por ali, resvalando pelos telhados gretados, a caminho de outras ruas, de outras gentes? Até o luar, que gostava de cenários tristes, pincelando-os de uma irrealidade romântica, ao chegar à rua de Florinda era vicioso, colando-se nas esquinas, lascivo e inquietante. O certo é que, apesar do cenário e do seu viver morto, a rapariga cantava, ante o pasmo de quem a ouvia. Cantava porquê, a florinda? Por coisa nenhuma, ou talvez por um pueril e ansioso pressentimento. Cantava porque ouvira a dona da pensão informar as amigas de que o velho algarvio resolvera conformar-se com a doença e regressar, de olheiras mortiças, à sua terra - e que, para o lugar dele, viria um estudante muito assente e aplicado, de quem a família falava com deleite. A mulher estava radiante com o acontecimento: o velho era insuportável com as suas manias de impor silêncio desde o fim da tarde, de exigir que andassem em bicos dos pés durante a manhã, sacrificando os outros à sua tortura de perseguir, em vão, o sono perdido. Um castigo! E, além disso, porcalhão: o jarro de água chegava-lhe para uma semana. Agora tudo o que ela desejava era que o hóspede se fosse depressa. Os rapazes eram turbulentos, sim, mas não tinham caprichos. Ou, se os tinham, domavam-se.
Florinda, na altura, não se perturbara com a notícia. Porém, à noite, quando o seu mundo inventado foi buscar novas personagens, lugares, acontecimentos, o «estudante inteligente e acomodado» veio fundir-se, pouco a pouco, subtilmente, com a figura nebulosa daquele que, por ora, só habitava o sonho. «E porque não? Que tenho eu de menos que as outras? Quem sabe se, depois de nos vermos todos os dias, de nos conhecermos, ele descobrirá em mim alguma coisa que o cative?» E Florinda imaginava como aquilo iria acontecer: de começo, timidamente, uns bons-dias furtivos; depois, umas palavras sem significado para os outros, mas que, para eles, teriam o sabor de um mágico enleio; depois... o resto! A voz da mãe, atravessando o ta-bique: «São horas, Florinda!», deixaria de lhe estontear as madrugadas, não a enervariam mais os almoços birrentos, com os eternos resmungos da mãe e do irmão por causa do gato. (O Fernando, desde que o gato partira uma perna debaixo de um eléctrico, «não podia gramar o ar de pedinchão do raio do bicho», que parecia explorar a memória do acidente roçando-se, a todo o momento, pelas lamúrias da dona da casa.)
A previsão do que iria suceder com a vinda do estudante pusera, pois, Florinda transtornada. O seu coração, apesar de ávido de ternura, ainda se conservava virgem. Amor era nela, por enquanto, um desejo inadiável de dar-se mesmo que nada lhe viesse em troca. Tivera um namorico na fábrica, sim, mas tão breve e tão desiludido! As companheiras, logo que a sineta lhes abria as portas da liberdade, lá seguiam a caminho de casa, muito encostadas ao seu par, de olhos brilhantes onde a felicidade se mirava. Ao vê-las, sentia um deserto no coração; assim esquecida, solitária, sem os olhos brilhantes onde a felicidade se mirava, parecia uma ovelha perdida do rebanho. Por isso, aceitou o primeiro que, mesmo mentindo, lhe falou do feitiço dos seus olhos imensos, da sua face pálida que apetecia acariciar para que o amor a colorisse. Iludira-se, porém: ele era bruto e maldoso. O namoro acabou com a ilusão desfeita. Mas agora havia nela um alvoroço diferente, o anúncio de que alguma coisa de maravilhoso e definitivo iria acontecer.
Pela criada da pensão averiguou de quando viria ele, e aguardava ansiosa o grande dia, cantando, dançando, meio doida, como alguém que, mergulhado na treva, pressente que a alvorada se aproxima.
O pregão madrugador da leiteira. E aquela música desconjuntada e lamentosa da carroça do lixo a perder-se na distância. E os passos agitados dos que se dirigem para as suas tarefas, escritórios e fábricas, algures, em qualquer parte da cidade. Outra vez o pregão madrugador da leiteira, que veio cedo da aldeia e trouxe consigo o amanhecer. Depois, crescendo no horizonte como lava ainda desmaiada, a claridade insinuou-se pelas frestas das casas dos que não tinham sirenes a chamá-los, algures, na cidade, e ficavam amolecidos nos lençóis tépidos e não podiam sentir a doçura da manhã.
Os ruídos, clarins do dia que começa, progrediram rua fora, engrossando, alteando, como maré a encher. A vida jorrou por todas as coisas, estremecendo-as, até que elas se erguessem para compartilhar da renovação.
João Queirós, na véspera, por descuido ou intencionalmente, deixara a janela aberta de par em par. No entanto, a noite estivera fria. Quando a luminosidade, com o seu cortejo de ressurreições, se derramou pelas Paredes do quarto, os objectos pareceram reanimar-se, espreguiçando os braços, como pétalas despertadas. Só ele ficara ainda de cabeça descaída na almofada, sonolento e indiferente. Sentia-se afogueado, transpirava.
E, contudo, a noite estivera fria. Mas a noite, fria ou quente, lá tem os seus mistérios.
Nada, por fim, resiste ao contágio da vida, da claridade, de uma manhã que começa: mesmo uma cabeça descaída na almofada. Por isso essa cabeça agitou-se para o outro lado, «o lado contrário ao de dormir» (nos seus tempos de criança a mãe ensinara-lhe que devíamos escolher sempre um lado para dormir: uma vez o corpo habituado, o sono vem depressa), e iria, por certo, também despertar.
Passos na sala contígua. Um arrastar de cadeiras. Foi então que João Queirós teve consciência dos lençóis sobre o seu corpo, de uma presença que lhe entrara pela janela. Mas não conseguiu abrir imediatamente os olhos. A cabeça pesava-lhe; como se o tivessem soterrado por debaixo de uma derrocada. Agora tentava aproximar-se do que antecedera a derrocada, mas as recordações esgueiravam-se, confusas e esquivas. Acontecia-lhe sempre assim: não era às primeiras que qualquer preocupação do dia anterior, alastrando-se nebulosamente noite adiante, pairando, como nuvem cheia e escura, sobre o sono, acudia logo à superfície: «Aqui estou. Desvenda-me, justifica-me!» O esclarecimento era lento e esforçado, tinha de atravessar infindáveis lonjuras até chegar ali. A nuvem permanecia longo tempo sobre os sentidos e sobre as ideias, misturando-se na turva sensação de uns lençóis sufocando o corpo. Só muito depois, gradualmente, enquanto a vida lá fora ia sacudindo o bocejo da alvorada, a descoberta tomava forma e significado, até explodir como um grito ou um trovão. E a nuvem suja, por fim, explodia também.
Foi assim que, já sentado na cama, humedecendo os lábios secos, as cenas da véspera se repetiram com uma intensidade súbita e cruel. As cenas da véspera!... Agora, que o pesadelo dos sonhos as tinham agigantado como ele as sentia mais brutais! O seu regresso a Coimbra, ansioso por vê-la, por saber explicações do silêncio desconcertante como resposta às cartas dele, escritas escrupulosamente em cada dia das intermináveis e odiadas férias! (E que cuidados lhe haviam merecido essas cartas! Consultara livros, cartilhas de namorados, copiara frases inteirinhas de Guido da Verona.) Ela, esfíngica no seu sorriso que tinha de tudo, malícia, troça, lástima por sabê-lo tão faminto de ouvi-la, nem se dera ao esforço de uma desculpa mais convincente:
«Pronto, não teime: está acabado o nosso namoro. O meu pai bem viu que você deu as minhas cartas a ler no café.»
E os olhos escorregadios de Celeste iam da pedrinha solta da calçada aos eléctricos que passavam, às unhas pintalgadas dos seus dedos um tudo-nada papudos. Olhos bonitos, os de Celeste. Olhos sem uma cor definitiva: castanhos, pardos, cinzentos, consoante a emoção que transmitiam. Olhos em amêndoa, quando sorria. Que linguagem tinham, afinal, esses olhos? Nem altivos, nem lânguidos, nem capazes de ser verdadeiramente meigos ou duros. A Celeste deveria sorrir toda a vida: a sorrir, os seus olhos eram duas amêndoas. E isso lhes bastava.
«Pronto, não teime!» E ele não conseguia segurar-lhe a expressão do olhar: havia uma pedrinha a partir-se em dois pedaços, havia os eléctricos, uma unha quebradiça, coisas que a atraíam muito mais do que o rosto dorido de João Queirós, em que existia um apelo faminto a uma reconciliação. Se a Celeste erguesse os olhos para esse rosto... De facto, olhos bonitos.
João Queirós não viera a Coimbra durante as férias. A história das cartas era uma refinadíssima mentira! Como podia tê-las lido no café se estivera todo esse tempo encafuado em Febres? Dissera-lho, numa veemência persuasiva. Ela, porém, não queria a verdade: Cerrava os lábios, riscava a palma da mão com a unha.
Só agora reparava que as unhas de Celeste eram unhas lívidas. Unhas donde o sangue havia desaparecido. E esse nada provocou-lhe um estremecimento de frio, de horror.
«Pronto, não teime!» E a unha exangue ia abrindo rugas na carne papuda. Tinha razão o Cristiano quando dizia: «Não acredito que essa tipa goste de ti. Aí anda gozo. Põe-se na alheta quando se fartar da comédia.» O Cristiano era bruto, feria por inteiro, mas a rudeza era nele uma linguagem de lealdade. O Cristiano e todos os outros sabiam o que diziam. Ele, João Queirós, não valia nada. Tinha amigos, sempre tivera amigos (pelo menos, assim o julgava, assim sentia a necessidade de acreditar), mas amigos que o achavam digno deles, da afeição deles, e nunca do amor de uma mulher «Pensas que levas daí alguma coisa?», outra vez o Cristiano, num sarcasmo que pretendia levá-lo a encarar as realidades, que pretendia defendê-lo dos logros.
Tinha amigos, pois, e uma mãe que o adorava, invocando-lhe fervorosamente, todas as noites, a protecção muito particular da Senhora da Boa Memória. Mas não devia esperar nada de uma mulher: era feio com aqueles beiços apretalhados, com o dorso a curvar-se para o chão. «Ó pá, quando é que cresces? Com essa altura, nem te vejo...», zombara um dia um colega. Essa e outras eram ironias desapiedadas, mas certeiras. Os sonhos com a tal mulherzinha que virá um dia, os sonhos de todos os da sua idade, pareciam grotescos no seu caso. Quem vem ao mundo com uns beiços grossos e enfezado não tem o direito de ser feliz. Joga às escondidas com a vida. Porque a vida, se o vê de cara a cara, reconhece-o logo e escarnece das suas ridículas pretensões.
Manhã. O carvoeiro chegou à porta, chamou o cão, obrigando-o a repetir as habilidades do costume. Melhor do que um cão de circo. O carvoeiro tem o nariz torto e o rosto mascarrado: sabe muito bem que a sua distracção e as suas amizades têm de ser o bicho, com mais tino do que muita alma de Cristo. O cão é o seu amigo: a este pouco importa o nariz torto e o rosto sujo do dono, a toca negrusca onde ambos se entendem só pelo instinto. O carpinteiro, mais adiante, bate, bate com o martelo, e assim abafa o choro do filho mais novo, que, logo de manhãzinha, saiu à rua com uma espada de madeira à cinta e uma luva na mão direita. Apareceu em casa sem a luva e com a espada em pedaços. Chora. O pai, porém, abafa esse choro com o martelar constante. Não compreende que a luva e a espada tinham uma grande importância. Mas o garoto há-de vingar-se dos seus adversários: pela tardinha voltará à rua com umas penas na cabeça, como os peles-vermelhas das fitas de cowboys, e todos o invejarão. Não se deixará roubar nem vencer dessa vez porque levará um pau bem forte que está dependurado no quarto do pai. As coisas dos pais são invencíveis. Consola-se com essa ideia, deixar de chorar.
O homenzinho da mercearia, velho como um papel desbotado, lê à porta um semanário católico; o jornal, nesse momento, também é muito importante. Poderiam entrar na mercearia, roubá-lo até ao último grão de arroz, que o velho não daria por nada. Será preciso baterem-lhe nas costas, sacudir o jornal colado aos seus olhos míopes, para que ele repare que está de guarda à loja.
Manhã. O pequeno do carpinteiro pensa nas arrogantes penas dos índios e já não chora. O jornal católico tem um folhetim emocionante. O cão espoja-se na Poeira de turfa.
João Queirós calçou as meias e os sapatos. Os seus gestos são lentos. Foi à janela e não viu o pequeno, o velho merceeiro, nem ninguém, porque sofre. Depois foi escrever na parede, com solenidade, a lápis-carvão, a data do dia anterior. Fica ao lado de outras datas secretas que representam marcos na sua vida. Seis datas, já. Mas, conquanto todas elas assinalem um acontecimento excepcional, já não sabe bem o que algumas significam. Esta, por exemplo... Não, já não se recorda. Isso não o preocupa, porém, visto que a do dia anterior é sem dúvida a única que irá decidir da sua vida: data do rompimento com a Celeste. E, no entanto, bastaria que Celeste quisesse acreditá-lo, que o olhasse bem no fundo da sua amargura, em vez de preferir o dedo esfolado ou a pedrinha da rua, para que já não fosse preciso tingir de negro a parede com esse registo da sua desventura. Assim, é o futuro despedaçado. Um simples número na parede, mas que tem uma voz implacável: «Nunca mais passarás à porta de Celeste, fazendo-lhe aquele sinal cúmplice para que ela corra ao muro. Nunca mais esconderás o sinal (sempre a sombra dos outros sobre os teus actos!) no gesto meio pateta de compor o cabelo, e descerás depois, como um ladrão furtivo, a ladeirita para a "rua do muro", supondo convencer as pessoas que era para ali, efectivamente, que te dirigias. É inútil agora o jornal que fingias ler, mas que sempre defendia a tua timidez. Já não precisas do jornal. Agora, terminadas as aulas, o teu destino é o covil deste quarto, andando de cá para lá, roendo os beiços pretalhudos, espremendo as mãos viscosas de nervosismo; ou, então, estiraçado em cima da cama, o olhar fixo no tecto, ou na lombada de um livro, ou na jarra que a tua mãe te ofereceu, carinhosamente, há tempos, e onde ninguém vem colocar uma simples flor; o teu olhar não estará no livro, na jarra, no tecto, mas sim no sorriso enigmático de Celeste. Depois do jantar, já não convidarás o esgrouviado do Cristiano para um passeio ao miradouro da Universidade, apenas no fito de teres um ouvinte das tuas pieguices: "Quando voltar a estes sítios, virei com ela. Será bom recordarmos os dois (sempre com ela, João), nesta mesma cidade, os projectos que fizemos." Hoje, amanhã, sempre, o que terás para lembrar é este quarto de paredes encardidas e o caruncho que, de noite, vem roer as tábuas que os anos tornaram esponjosas. (Desde quando deste pela incomodidade do teu quarto?) Agora, amanhã, sempre, passearás de cá para lá, um náufrago numa ilha perdida de todas as rotas.»
Apoiou-se no peitoril da janela e acendeu um cigarro. O carvoeiro adestrava o cão. Dois estudantes, lá ao fundo, um rapaz e uma rapariga, ela rindo-se dos gracejos do companheiro, dobraram a esquina. Ele, desempenado, esguio, tudo nele era confiança. Não tinha o dorso curvado. Sabia andar. Ela ria como se a vida fosse apenas riso e alegria. Mas decerto que os seus olhos, mesmo quando rindo, não ficavam amendoados como os de Celeste. Linda, a Celeste! Nunca mais poderia encontrar uma mulher que se lhe comparasse. Perdera-a - e agora nada mais encontrava na vida que valesse a pena viver.
Os estudantes desapareceram. O futuro poderia ler-se-lhes nos olhos, no andar, na confiança dos gestos: terminados os cursos, continuariam juntos pela vida fora, e mais tarde (como sonhaste para ti, João!) viriam em peregrinação a estas velhas ruas que lhes tinham oferecido a oportunidade de se conhecerem. Abandonado, sem o amor de uma mulher - só ele. Não havia estudante que não tivesse escolhido a companheira dos dias que vinham já perto, ou que não estivesse seguro de a encontrar em breve. Ao Pedro, o Pedrinho, por exemplo, seu colega de estudo, quando o viam sair de casa, despediam-no com o comentário: «Vais ter com a Emília, é claro. Estes bons costumes dos homens casados!...» Chamavam-lhe «homem casado» por troça, mas nessa ironia havia um secreto alvoroço por verem-no já tão compenetrado do seu papel de noivo oficializado pelos pais da rapariga. E o Pedrinho, apesar de cabeludo, pondo os olhos em alvo por qualquer beliscadura, não se molestava com a insinuação. Respondia-lhes mesmo com um sorriso de enfatuada indulgência. Outro, o Jorge: recebia rigorosamente todos os dias carta da noiva, havia no seu quarto um retrato emoldurado a azul, cor da sua Faculdade, no qual um rostozinho burguês sorria com beatitude; era um desleixadão, tinha percevejos na cama, sem que essa convivência o enojasse, não consentia que lhe lavassem o quarto «por causa das constipações», mas todos os dias limpava meticulosamente a moldura azul daquele rosto que, lá longe, repetia, em sua intenção, o tal sorriso desvanecido.
Só ele, ali encostado melancolicamente à janela, se sentia um destroço. E, contudo, ainda na manhã anterior, no seu quarto de férias, as perspectivas haviam sido bem diferentes. A antecipação do que iria passar-se no encontro com Celeste fazia-lhe apetecer abraçar meio mundo. «Ainda hoje darei um passeio com ela Logo que chegue, procuro-a, e, à tarde...» Depois daquelas torturadas semanas de ausência, nem palavras teriam para se exprimir! (De resto, falavam sempre tão pouco!... Mas para quê falar? O que importava era o que ia lá dentro, no coração. As palavras deturpam tudo.)
Agora, porém, todos esses sonhos eram estilhaços. E um frio subtil, como formigueiro entranhando-se pelas veias, subia-lhe à garganta, nela se enrodilhava, até o sufocar. Subitamente, uma dúvida clareou a sua angústia: «E se foi verdade o patife do pai ter-lhe contado a história das cartas exibidas no café?» Ele era, decerto, muito capaz de tal velhacaria, e, nesse caso, Celeste tinha razões fortes para se mostrar indignada. Era umâ hipótese sensata. Explicava tudo. E João Queirós sentiu urgente necessidade de a confirmar. «Ela está inocente. Está inocente! O pai é que engendrou toda a intriga! Basta, pois, que eu a convença de que o pai mentiu.»
E a certeza de que ela poderia ainda gostar dele, de que não deixara de gostar, fez que, pela primeira vez nessa manhã, João Queirós se sentisse compartilhar da vida que, lá fora, festejava a sua renovação.
À tarde, esclareceria as coisas com a Celeste. Ela não poderia deixar de acreditá-lo. O pai que dissesse a quem as cartas tinham sido mostradas! Que dissesse! Estava disposto a enfrentar as mentiras forjadas pelo pai da Celeste, ainda que ele, o tratante, lhe contrariasse o namoro com a rapariga. Ouvira, aliás, dizer muitas vezes que namoro contrariado é namoro pegado. Um dia Celeste seria livre para gostar de quem entendesse. Um dia João Queirós viria buscá-la, numa noite escura, contra o desejo do pai, contra todos. Sentir-se-iam mais ligados se tivessem de lutar com a incompreensão e a hostilidade dos outros. Ainda que a impedissem de falar com ele à porta, havia outros lugares onde poderiam encontrar-se. Num jardim, por exemplo. E então, refugiados num recanto discreto, e ele conhecia alguns, teria, enfim, a oportunidade de a beijar muitas vezes. Beijos que durassem minutos. (O Rogério contava que, certa vez, beijara a namorada durante um quarto de hora, sem tomar fôlego. Tudo confirmado pelo relógio. E dizia ainda que, quando casasse, seria muito bem capaz de passar dias seguidos a beijar a noiva. Só beijar, sem mais nada. João Queirós era o único que não troçava desses propósitos. Só beijar, pois, sem mais nada.)
«E se ela não quiser falar comigo? Se ela não der atenção aos meus argumentos? Já ontem aconteceu o mesmo. E, bem vistas as coisas, que interesse teria o pai em inventar aquela história? O Pedrinho até disse que...» Não, para que iludir-se? Tudo era bem claro: era ela, Celeste, que queria arredá-lo. «Não acredito que a tipa goste de ti, que queres? Aí anda gozo.»
O Cristiano não tinha papas na língua.
A Srª Mariquinhas pespegou-se à varanda, baixando-lhe a cabeça num cumprimento untuoso, enquanto as maçãs do rosto, enfunadas e rubicundas, se avermelhavam ainda mais no esforço de sublinhar o sorriso. Tal e qual como cinco meses antes, da primeira vez em que João Queirós chegara à janela da sua nova pensão, E também como nessa data, a rapariguinha clorótica da família de operários veio estender um molho de roupa no peitoril. Ela vestia sempre de escuro, uma aparição soturna e desesperançada na madrugada da rua. João Queirós estranhou-lhe o olhar afogueado, o gesto comprometido de levar a mão ao cabelo e compô-lo à pressa. Depois ela foi lá dentro, decerto para encontrar novo pretexto para se demorar à janela, e o seu olhar, então, mais afoito, já se fixou no dele.
João Queirós pensou que talvez a vida, tal como a ele, a tivesse marcado com sina negra. Assim magrizela, sumida de manhã à noite na penumbra da casa, de olhos pisados, a felicidade nem daria por ela quando lhe passasse à porta.
A rapariguinha desviava agora a atenção para os insignificantes acontecimentos da rua, mas olhar interessado, verdadeiro, terno mesmo, era para ele. E foi quando João Queirós, já intrigado, começou a perseguir o jogo pueril desse olhar, que uma voz lá dentro lhe denunciou a sua traição. Estava a esquivar-se à infelicidade! E a voz reteve-o de novo ao seu infortúnio, do qual não tinha o direito de escapar-se. «Ela abandonou-me! Ela abandonou-me!» Decidiu fugir da janela, fechar-se no antro cerrado da sua amargura. No entanto, o modo leviano com que, pouco antes, traíra a imensidade do seu drama, pôs-lhe uma pergunta insidiosa: «Mas gostarei verdadeiramente de Celeste?» Ah, não, seria indigno duvidar. «Eu sofro! Eu sofro!» E essa autoflagelação conseguiu torná-lo mais infeliz do que nunca.
Agora, regressado ao covil, já nada o distraía das cenas da véspera: os olhos da outra (e porque dizia já a outra) colados ao chão, furtando-se à verdade injuriada que se lia no rosto dele. «Teve medo de me encarar.» Se ele tivesse podido dizer o que Celeste merecia... Porque havia de ser sempre tímido?! (As suas maxilas cerraram-se como se, enfim, fosse triturar essa odiada timidez.) Só muito depois de passadas as oportunidades lhe acudiam as grandes e decisivas frases, que todos os outros tinham sempre na ponta da língua para as utilizar no momento propício. Todos - menos ele. Não eram só aqueles lábios papudos que o inferiorizavam; também lhe faltava o dom natural de desimpedir o caminho de embaraços. O Cristiano dissera: «Não acredito que ela goste de ti.» E, no entanto, ninguém como ele tinha para oferecer à Celeste amor e sinceridade, um amor que se bastava com o prazer de muito dar e de receber quase nada. Celeste indo e vindo na saleta que dava para o muro, azafamada com os arranjos da casa, sugerindo-lhe a quente e inviolável atmosfera da família de que ela, um dia, seria a obreira. Celeste sorridente e sempre afadigada como sua mãe; Celeste...
Devia sepultar tudo isso, projectos e recordações. Devia esquecer, desiludir-se. Apagar da parede a data escrita a lápis-carvão. A vida costuma troçar dos tais que levam a sina desnuda, escrita no rosto: ainda que feche os olhos por algum tempo, abre-os quando menos se espera e anula os trunfos do jogo. E a vida tem mais de cem mil olhos por toda a parte.
A outra pensão - a primeira que conhecera em Coimbra - contribuíra em boa medida para a precocidade na desventura que lhe abrira rugas na sua testa de adolescente e o pintava com esse ar um tanto caricato de quem já se vergou ao peso da vida.
A dona da casa era viúva e diziam que bêbada. O que ele podia garantir é que a mulher cheirava mal e ressonava como os cerdos, visto que lhe fora destinado um quarto junto ao dela, tendo apenas de permeio uma parede de tabique. Quando conseguia escapulir-se de noite, para ir ao cinema, essa vizinhança ameaçadora obrigava-o a entrar em bicos dos pés, com mil cuidados, pelo hábito de recear mesmo as coisas improváveis, pois ela não acordaria ainda que lhe desabasse o tecto. Era justamente esse ressonar mais estridoroso do que deveria admitir-se que fazia suspeitar que ela bebia, embora houvesse outros sinais denunciadores, como a frequência com que a criada transportava garrafas e garrafas da taberna para a pensão. Os estudantes tinham uma parca ração de vinho; onde se consumiria o resto?
Por essa altura (bisonho, enfiado e sempre tímido João Queirós sofreu o primeiro abalo sentimental. Gostava de se deitar cedo, esperava com impaciência) hora de se recolher ao quarto para, a sós consigo e o sonho, viver um maravilhoso mundo de antecipações. Isto com uma velha ao lado a cheirar mal e ressonando, talvez bêbada. Galgava então os dias e os anos, imaginando-se com a tal «mulherzinha» a seu lado. Inventava cenas, carícias, fantásticos diálogos repetidos noite após noite, mas que, quanto mais repetidos, mais lhe excitavam a efabulação.
Mas quem adivinharia no seu rosto já enrugado e nos lábios grosseiros essa predisposição para a ternura - o eleito da tal mulher que o esperava desde os confins dos tempos?
Nos seus sonhos fugia sempre de macular «a sua mulherzinha». Nem lhe passava pela cabeça - não, não queria pensar nisso! - que os seus corpos poderiam sentir-se atraídos, poderiam unir-se. Não queria pensar nisso! Os corpos eram vício e nojo. A mulher que o esperava no regresso do emprego, que lhe sorria, que o fixava fora do tempo e do espaço, não poderia ser enxovalhada. Uma vez por outra ainda tentava reagir a essa pieguice, que, se fosse conhecida, seria a troça dos companheiros, mas uma coisa era a mulher alada que o visitava na cumplicidade da noite e outra a ansiedade erótica atormentando-o quando, por exemplo, os mais velhos, os que já poderiam gabar-se dessa viril e honrosa experiência, lhe falavam das suas visitas às casas de mulheres; nesses momentos, corria-lhe um fogo pelas veias e pelo sexo e torturava-se a imaginar prazeres ignorados e misteriosos. Desejava ardentemente que lhe sobrasse coragem para os acompanhar e ser, enfim, um homem. Mas essa febre dos sentidos não deveria misturar-se com a companheira que emergia dos confins nebulosos do sonho para dialogar consigo.
Foi por essa altura, pois, que o seu coração sofreu abalo. Até aí, o rosto que lhe sorria, o corpo alvo vinha aquecer-lhe as noites frias, eram formas breves e fugazes que, em vão, tentava reter para as prolonger durante o dia. Agora, porém, já identificara o rosto e o corpo macio. Pertenciam a uma aluna de um colégio, morena, de olhos buliçosos, cabelo farto que lhe descia, ondulado, pelas costas. Diziam que tinha muitos admiradores. «Possivelmente bem-parecidos, sabendo engendrar frases bonitas», pensava ele, com despeite e falso desdém. E essa fama de requestada era um espinho na esperança de João Queirós. Ele não era bem-parecido, não sabia dizer coisas bonitas. Sabia ímagin ná-las. Além disso, os seus sapatos estavam rotos.i Evitara informar o pai desse pormenor, pois acusá-lo-iam logo de passar o tempo a jogar futebol. Assim, de sapatos rotos, que eram mesmo uma vergonha, de lábios grossos e sem frases que enleassem uma mulher não valeria a pena uma tentativa.
O sonho acabara. A mulher do sonho traíra-o. Nã deveria pensar mais nela, evocá-la, trazê-la a essa inviolável intimidade da noite, pois assim que a reconhecera na vida real ela surgira-lhe disputada por muitos admiradores que não tinham sapatos rotos nem lábios de selvagem.
Os dias eram uma agonia de sucessivos crepúsculos de desilusão. No entanto, experimentara segui-la várias vezes. Parecia ser esse o primeiro artigo do código. Mas o seu embaraço «Sou um piegas! Sou um piegas!» obrigava-o a esconder-se rapidamente, comprometidíssimo, quando ela, talvez por acaso, dava pela sua presença. Certa vez, julgou mesmo ver nela uma expressão de curiosidade. Ou de zombaria? Cerrou os olhos para não ter de rectificar uma dessas dúvidas. Quem sabe porém, se ela obedecia àquele apelo instintivo e irrepriimível do sonho? E os sapatos rotos? Não, ele era de masiado grotesco para subornar a sorte; devia desistir: Submeter-se-ia aos dias soturnos da pensão, à mulher a mulheraça bêbada e malcheirosa, que ressonava, a dois passos enquanto ele ardia por viver num mundo maravilhoso
de beleza e ternura. Talvez a mulher do sonho não fosse, afinal, aquela que julgara encontrar.
Aconteceu, porém, certa vez, que ele deu por um rasgão nas meias da rapariga. Um círculo branco de carne no negrume das meias, tão ridículo como o espectáculo dos seus sapatos, tão sugestivo de pobreza e infortúnio como a sua aparência descuidada e os lábios grossos. Tudo isso os igualava, aproximando-os. Decidiu-se. Um amigo, colega da rapariga no colégio, levou-lhe a carta, uma carta que lhe custara uma semana de laborioso trabalho de redacção. Chegou a esboçar-se um vivo debate entre eles, pois o Nequitas, se concordava com a cor do papel escolhido, muito própria para as circunstâncias, era de parecer que o fraseado de algumas passagens poderia provocar o riso em vez de seduzir.
Por fim, acertados os pontos de vista, foi esperar, sobre brasas, o Nequitas à saída das aulas. Calçara uns sapatos que o amigo lhe emprestara, ainda em muito bom estado - apenas com o senão de estarem ligeiramente descosidos numa das pregas. Coisa, no entanto, de somenos e facilmente dissimulável com as dobras da calça.
- Então?!
- Olha, sabes... será melhor talvez... Isto a meu ver. É que... Toma, é melhor que leias.
O Nequitas entregou-lhe a resposta - um bilhete escrito na página amarrotada de um caderno de apontamentos. Os seus olhos, receosos e ávidos, leram:
Digam a esse criançola que cresça, ganhe juizinho e depois... talvez alguém tenha o mau gosto de o aturar!
O Nequitas torcia e destorcia o boné, solidário com o desgosto do amigo, e conseguiu dizer:
- Eu não sou culpado, bem vês... Entreguei-lhe a carta, ela mandou-me logo este bilhete e a tua carta ain da por abrir... É uma tipa safada. Agora há muito disto. Além de que... não tem nada de bonita! Estive hoje a reparar com mais atenção. Ela tem as pernas tortas uns dentes...! Se tu a visses bem de perto...
E, tão convictamente quanto lhe era possível, subli nhou uma careta de enojado.
João Queirós, assim que pôde fazê-lo sem testemunhas, chorou. Mesmo junto do Nequitas, já os olhos se tinham embaciado. Acabara tudo. Cada desgosto trazia essa sensação de irremediável, de desventura predestinada e definitiva. Ninguém reparava nele, a não ser: como pretexto de troça; não havia nada em si que im pressionasse uma mulher. Era preferível morrer e que todos soubessem que morrera por ser infeliz e sem amor. Que seria dele, agora, de coração estilhaçado, naquela pensão onde uma velha, por deturpada incumbência de sua mãe, lhe espreitava os passos e as horas (sabia-lhe o horário das aulas e calculava meticulosa rancorosamente o tempo que ele se demorava na rua) que lhe dava bofetões?! Tinha o amor de sua mãe, sim que rezava lá longe por ele, recomendando-o a todos os santos do Céu, tinha a amizade do Nequitas, seu com panheiro de quarto e moço de recados da pensão - mas não lhe bastava o afecto de sua mãe nem a amizade comovida do Nequitas. Era melhor morrer.
Pulou da cama, caminhou solenemente, trágico, para a mesa de estudo, e desabafou numas folhas de papel de carta, desta vez as mais ordinárias que havia à mão a sua revolta e a imensa e injusta dor de que a rapariga do colégio era responsável. Para objectivar de qualquer modo a expressão de martírio, a resolução de fugir para longe, muito longe dela, para assinalar mais concretamente a atmosfera que o levara a fumar quase um maço de cigarros (o cinema era bom mestre para se figurarem situações dramáticas como esta), João Queirós deixou, por fim, no papel, duas nódoas de lágrimas. Lágrimas encorpadas e autênticas. O Nequitas, ali à beira, esmagado ele próprio pela nobre e desesperada atitude do amigo, fazia um ar abatido; as suas rugas de velha (chamavam-lhe a velha por sugerir um rosto de minhoca encarquilhada) tinham uma tonalidade azulada de máscara de palhaço; os seus olhos, já de si pequeninos e escondidos, pareciam ainda mais sumidos. Aquilo também lhe dizia respeito e tornava-o infeliz. Discretamente, chegou-se ao amigo, dobrando o pescoço de girafa sobre o fraseado da carta. João Queirós ia na altura da transcrição de uma denúncia sobre a perfídia feminina de certo filósofo do Almanaque Bertrand. O Nequitas soletrou: «As mulheres amam e fazem sofrer por capricho; não respeitam o sofrimento e o amor», e acenou, gravemente, a sua concordância. Depois outra e ainda outra transcrição. «As mulheres...» Sempre as mulheres, as velhacas, ali bem desmascaradas por quem sabia fazê-lo. O Nequitas continuava a achar bem, sim senhor; era preciso que ela ficasse a saber que João Queirós não era um farroupilha qualquer: tinha leituras, sentimentos e escrevia que era um mimo. Além disso, se o almanaque seleccionara aquelas palavras dos filósofos, numa secção de «pensamentos escolhidos», é porque havia muito boa gente a confirmar o quanto as mulheres precisavam de uma ensaboadela.
- Cartas dessas mereciam ser encaixilhadas.
A carta prolongou-se por três folhas de papel, numeradas para evitar confusões e ainda para que ficasse bem salientada a sua eloquente dimensão.
Era uma data memorável, a dessa carta. E, por isso, lá ficou gravada na parede do quarto, embora discretamente, pois a patroa não admitiria que lhe violassem as paredes. Foi o Nequitas que reparou numa coincidência singular: o sol, ao arrastar-se pelo quarto, num foco rectangular que se ia distorcendo com o crescer do dia parou rigorosamente junto dessa data. Os dois ficaram emocionados e cismáticos. O sol lá tinha as suas arte de conhecer os desesperos dos humanos.
Dias depois da carta, tudo começou de uma maneira inesperada. O Nequitas, agitadíssimo, rompeu pelo quarto em estilo de rajada:
- Queres saber, pá?! A Maria Leonor pediu-me que te dissesse que precisa de falar contigo. Não é bestial? - Mas, refreado por um receio súbito, recuou: - É claro que não sei o que ela te quererá dizer. Mostra-se muito reservada. Suspeitas de alguma coisa?
De tarde, aguardou-a à esquina da barbearia da Velha. Como das outras vezes que a esperara ali, à saída das aulas, o barbeiro fez um sorrisinho cúmplice e talvez gozoso. E como das outras vezes, ainda, João Queirós resguardou-se dessa ironia bisbilhoteira, ocultando-se para lá da esquina.
Ela apareceu de improviso, justamente no momento em que João se preparava para roer as unhas. Dissimulou logo o gesto, mas não evitou que ela o surpreendesse na atitude ridícula. Maria Leonor vinha um tanto ruborizada. João Queirós pediu licença para se lhe dirigir gaguejando as palavras (aprendera o preceito de «pedir licença», nessas circunstâncias formais, através das conversas dos companheiros mais sabidos), e, entre pausas que a todo o momento ameaçavam eternizar-se, conseguiu dar-lhe a entender que estava ali para ouvir as suas intenções.
Ela, muito mais tranquila e segura de si própria, começou:
-Quero pedir-lhe desculpa do que aconteceu...
Fui um pouco precipitada, confesso, julguei-o mal. Vocês, os rapazes, costumam fazer essas coisas só para se divertirem. Mas agora, sabe..., penso já o contrário a seu respeito. Julgo que fiquei a conhecê-lo um pouco melhor... depois da carta. Carta um pouco atrevida, deve concordar...
E sorriu, indulgente. Tinha uns dentes brancos e muito certos (o Nequitas mentira!), como feitos por medida. Tudo nela, aliás, parecia perfeito e maravilhoso.
Deveria dizer-lhe fosse o que fosse. Mas como, de que maneira, com que coragem? Muito longinquamente, acudiam-lhe certas frases, por certo bem ajustadas ao momento, mas colavam-se-lhe na língua. Era um melaço feito de enleio, de cobardia. Além de que ele não chegava a perceber muito bem a atitude de Maria Leonor. «Bom, ela chamou-me à sua presença; pede-me desculpa. E depois? Isso não quer dizer que ela...» Era demasiado ambíguo para a sua inexperiência. Porém, de súbito, teve a intuição de que o tom das palavras dela e o facto de estarem ali, juntos, sob o risonho sarcasmo dos adultos que os apreciavam, só poderia significar que ela se sentira abalada. Só poderia significar amor. Ela também gostava dele! (No mesmo instante da revelação, João esqueceu que a língua se lhe tinha colado e sentiu que podia falar, dizer um mundo de coisas.) Maria Leonor gostava dele desde que a carta o afiançara com um homem diferente. (Já o director do colégio - e há quanto tempo isso fora! - lhe dizia: * Com um pouco mais de gramática, irás longe, meu rapaz - És diferente.») Gramática! Farolices de velhos!
A alegria por ter compreendido, enfim, a rendição de Maria Leonor foi tão intensa e inesperada que os seus braços estiveram quase a estender-se para as mãos da rapariga (ela tinha uns dedos afusados, aristocráticos - outro pormenor de tanta importância escamoteado pelo Nequitas!). «Que hei-de fazer agora?» Não devia evidentemente, mostrar-se presumido, dar-se ares vitorioso enfatuado. Mas, então, como exprimir-lhe sua felicidade? As suas mãos haviam feito o começo um gesto revelador, haviam-lhe procurado os de (uns dedos finos, de pele muito alva), mas isso bastaria? E por falar em mãos e em dedos: que iria sentir, um dia, ao entrar em casa, quando a sua mulher (Maria Leonor, é claro) estivesse a tocar melodias breves e sedosas no piano? Para já, contudo, o que importava era esquadrinhar na memória o relato de situações semelhantes, em que os companheiros experientes tinham sabido começar um namoro de uma simples anuência da parte de uma rapariga. Lembrou logo o Morais - o mais afortunado dos conquistadores da pensão. O Morais, certa vez, ufanara-se: «Apanhei a tipa a ajeitar-se e pedi-lhe logo licença para a acompanhar, de futuro, ao colégio.» Essa sugestão parecia-lhe agora vulgar e grosseira. Vulgaríssima - e, num momento, a cotação do Morais esfrangalhou-se.
João Queirós, hesitante, foi indo a seu lado, ofereceu-se depois para a levar de eléctrico a casa (pagou ele, naturalmente, e com ênfase, os dois bilhetes) e, na altura da despedida, embora não lhe fosse possível coe toda a emoção, insinuou com simplicidade:
- Até amanhã.
Nesse «até amanhã» estava tudo dito. As coisas continuariam.
Ao chegar a casa, abriu com recato a porta (que rangia sempre, a delatora) para que a patroa não viesse espreitá-lo lá do cimo das escadas, com o seu olhar mau e turvo do álcool. Um olhar de fazer estremecer quem tinha catorze anos e a obrigação de pedir licença para amar, viver, sofrer, a meio mundo de gente.
Encontravam-se diariamente à saída das aulas. Ele levava a capa sobre os ombros; em sinal de respeito, e além disso porque descobrira que, de capa escorrida, era favorecido na aparência: parecia mais entroncado, robusto, e, pelo menos, mais crescido. Pouco lhe falava e raramente com desenvoltura: junto dela perdia a vivacidade, todo o sôfrego desejo de expansão e alegria, que às vezes, entre os companheiros, o fazia mais suportável.
Quando passavam pelo liceu, ou nas imediações (e todos os caminhos os expunham a essa armadilha), era uma surriada dos diabos. Chamavam por ele em altos berros: «Ó Queirós! Ó maganão! Liga à malta!», e os mais catraios, sem um dedal de vergonha, recebiam instruções para lhe puxarem pela capa. Chegavam a espetar-lhe cartazes nas costas com dizeres horríveis. Ele não respondia, não levantava um dedo para se defender ou castigar - como o faria, por exemplo, o Nequitas. Toda a sua mágoa, toda a sua fúria, se retinham nos olhos. Neles estava a sua linguagem: o amor a Maria Leonor, o ressentimento pelo mundo, um estranho orgulho por ser martirizado.
Com o tempo, a confiança entre eles tornou-se mais fácil e loquaz. João Queirós, aos quinze dias de namoro, conseguiu propor-lhe que se tratassem por tu e, de-pois disso, ela chegou a proibi-lo de fumar. Mais não foi necessário para que ele, todas as manhãs, escovasse os bolsos, com receio de que Maria Leonor, suspeitando da fraude, se melindrasse.
De uma vez, João Queirós faltou à hora aprazada Por culpa da dona da pensão. (Ela tinha-os surpreendido a subir a ladeira de Almedina, sem dar tempo a que João se afastasse da rapariga, fingindo desconhecê-la, e repreendera-o asperamente, embora ele alegasse um improvisado parentesco com a moça.) A patroa, nesse dia, conseguira demorá-lo na pensão, sob pretextos malvados - e assim se passara a hora do encontro. Quando tornaram a ver-se, Maria Leonor, a uns passos de distância, levou as mãos ao peito e empalideceu. «Como ela gosta de mim!» Ao relacionar a proibição do tabaco, e outras coisas mais, com essa dor súbita ao avistá-lo depois de um encontro que ele não respeitara, João Queirós andava longe da verdade. Os motivos eram outros: Maria Leonor não podia admitir que ele se rebelasse, mesmo sem premeditação, contra a autoridade que ela lhe impunha gradualmente. No decurso da vida ele havia de o saber: a sua brandura de feitio tornava-se, bem depressa, uma tentação para a tirania dos que ia topando pelo caminho. Entre duas pessoas, é difícil que uma não quebre e a outra renuncie ao saboroso despotismo.
Mas, com lágrimas e algumas juras solenes, as coisas serenaram, Foi, de resto, a única nuvem que os ameaçou.
Logo depois de almoço, correu a Montes Claros, passou rente à janela de Celeste. Alguém tocava piano na sala que ele às vezes espreitava da rua, disfarçadamente, na ponta dos pés. Pela primeira vez, João notava que o piano era muito mal tocado. «Ela nem sequer sabe tocar piano. É desajeitada, estúpida e não tem sensibilidade.» Eis um pormenor muito grave. No entanto, não arredou das imediações da casa, embora cada nota de música que lhe vibrava desagradavelmente nos ouvidos lhe acentuasse a imensa distância que havia entre Celeste e o que dela imaginara. Celeste era estúpida. Contudo, bastaria que ela chegasse à janela com o seu sorriso macio, os olhos amendoados, para que João Queirós se deliciasse com a música. E, bem ponderados os senões, seria assim tão importante que uma mulher fosse pouco receptiva às subtilezas do piano? Celeste era estúpida. Estaria ele muito certo disso?
Acendeu outro cigarro. «Estes cigarros estão cada vez mais enjoativos. E queimam-me a boca.» A porta da casa de Celeste abriu-se. «Será ela, meu Deus? Terei coragem para...» Não, era o pai. O pai, de gabardina no braço, cabeça arrogante, todo ele cheio de vento, fingindo não dar pela ronda de João Queirós. Ou, efectivamente, não teria dado por ele? De qualquer modo, João Queirós já ia longe, passo estugado, como quem tem pressa em chegar ao seu destino. Mostrava, assim que passara ali por acaso. Daí a pouco, dissimulado por detrás de uma barraca de bugigangas, e certo de que o pai de Celeste já não retrocederia, foi-se de novo aproximando da casa. Outra vez o piano e gente que ria, lá dentro, disparatadamente. Música e gargalhadas que tinham qualquer coisa de obsceno. «Estão a rir-se de mim; espreitaram-me e gozam de me ver aqui, um rafeiro que vem lamber as botas de quem o castigou.» Não, a Celeste não lhe convinha. Nunca saberia apreciá-lo como ele merecia. «Nunca!» Mas onde, onde encontraria ele um sorriso igual, uns olhos que se fechavam oblíquos e acetinados - duas amêndoas enigmáticas ?
Estava já mordido de impaciência. «Faço papel de parvo. O que elas querem é isto.» Descortinou então na outra janela, a do fundo, uma cabeça de mulher. «Deve ser ela; procura um meio discreto de me falar.»! Mas quando, alvoroçado, chegou mais perto, a cabeça recolheu-se. Sentiu-se vexado e furioso - capaz de a estrangular se a tivesse ali à mercê das mãos. i
Foi então que viu o Rogério ao cimo da rua. Doisdias antes andara por ali com o amigo, sob a chuva morrinhenta da noite, estreando um sobretudo que deveria impressionar qualquer mulher. Falara alto, esperando que ela o ouvisse e aparecesse de qualquer lado com o seu «olá!» um nadinha irónico, que, no entanto, lhe sabia a um afago. Inutilmente, porém. Perdera-se a oportunidade do sobretudo, visto que o tempo, no dia seguinte, decidira mudar de cariz.
O Rogério, escarninho, perguntava-lhe agora:
- Estás de sentinela, gaiato?... Ela já te falou?
- Ainda não. Apareceu à janela, mas pisgou-se logo.
- Deixa-te de sujeiras, pá. Vai para casa e toma uma aspirina... Ou queres vir comigo à Baixa, a um café?
- Não saio daqui enquanto ela não me falar. Ficaram calados por momentos. João esfregava, com raiva, o suor das mãos. Era uma fonte que nunca secava. «Raio de suor. Até de Inverno! Não posso apertar a mão a ninguém.» O Rogério esmagava um pedaço de terra dura com o sapato. João Queirós olhava pensativamente o amigo e ia corporizando uma ideia: «E se o Rogério...» Podia ser um estratagema engenhoso!
- Olha, Rogério... E se tu lhe falasses?... Tu sabes dizer as coisas como ninguém (sempre a apoiar-se nos outros, sempre frouxo, sempre incapaz!); ela, a ti, respeita-te. Mas não te esqueças de a convencer de que foi mentira eu ter lido as cartas no café.
- Ai tu pensas que alguém lhe falou das cartas? És um anjinho!
Sentiu-se magoado. Mas o Rogério tinha razão: ele era um anjo, a burlar-se a si próprio, a mascarar as realidades com a sua esfomeada imaginação. Não sabia lidar com mulheres. As mulheres queriam tipos brutos e falsos. A história das cartas era uma destas pantomimas que entram pelos olhos dentro. No entanto... O pai embirrava com ele, podia muito bem ter-se metido de permeio com a farsa das cartas. Mentira à filha que, crédula, se sentira enxovalhada com o reclamo público dos seus amores. O pai, decerto, chegara mesmo a bater-lhe para a forçar a um rompimento. «Ai tu pensas que alguém lhe falou das cartas?» O Rogério, tal como o Cristiano, estava de fora, via as coisas com mais clareza e sensatez. Onde estaria a verdade? Para que se roia com dúvidas? Mas, fosse como fosse, o brio impunha-lhe, pelo menos, desmentir o insulto de que era um anjo.
Claro, Rogério. Eu sei muito bem que aquilo foi treta. Mas, para falares com ela, precisas de um pretexto.
Poderias ficar por aqui, a fingir que não me encontraste, e quando a visses à janela ou à porta não a deixarias escapar-se. O que é preciso é que lhe fales.
- Olha, ali vem o irmão dela.
Era efectivamente o irmão. De súbito, acudiu-lhe um novo plano, oportuníssimo:
- Vê se consegues tirar alguma coisa do irmão. Faz de conta que não estás comigo. Depressa!
E João Queirós, antes que o amigo protestasse, foi-se a assobiar despreocupadamente rua fora, conquanto sentisse os músculos contraídos. Viu o Rogério dirigir-se ao outro, viu-os caminhar lado a lado, embora um pouco afastados, como se se avaliassem antes de medir forças, e depois discutir com certa exuberância de gestos. As mãos de João Queirós, essas, espremiam-se com frenesi. «Oxalá tudo corra bem! Oxalá que ela...: E procurava deduzir, do modo como o Rogério e o irmão de Celeste se escutavam um ao outro, o que resultaria dessa explicação. Passava alternadamente da esperança ao desalento, esquecendo que a sua sorte estava ditada antes daquele encontro. Tudo dependia de Celeste! Bastava que Celeste tivesse um poucochinho de emotividade, que um argumento mais certeiro a impressionasse, para que todas as coisas do mundo se tornassem, para ele, límpidas e belas. Todas as coisas. Era esse pedacinho de condescendência que ele pedia, um pedacinho que custa tão pouco e que ele saberia aproveitar para que Celeste aprendesse a conhecê-lo, a amá-lo, permitindo-lhe que fosse feliz. Se Celeste aparecesse à janela e demorasse uns breves minutos, correria logo para junto dela, não esperando que terminasse a entrevista do Rogério com o irmão. Saberia convencê-la, desta vez saberia convencê-la; e despedir-se-ia depois com um sorriso brando, recolhido, um sorriso repleto de coisas íntimas e imensas que só eles entenderiam: «Até amanhã.» O «amanhã» era o dia seguinte, todos os dias de um futuro sem medida, só deles, antecipado naqueles olhos que eram duas amêndoas fechando a doçura num reduto misterioso. Daí a uns anos - tudo já tão próximo! -, viria então buscá-la, libertando-a, definitivamente. Casariam de madrugada, sem testemunhas. E depois... Até onde ia a largueza desse «depois»!
Bastaria que ela demorasse uns minutos à janela. Ou então que aquele gesto do irmão, segurando o Rogério por um braço, quisesse significar... Mas para que torturar-se com essas bruscas gradações de confiança e desespero? O Rogério não tardaria com a resposta.
João Queirós observava uma vez mais as janelas de Celeste. Dois vasos no parapeito. Flores e verdura. Era bom ter uma casa. E uma mulher carinhosa. Era bom colher uma flor, antes de sair para o emprego, e conservá-la na lapela. Pequenas coisas, grandes coisas, que transportavam a ternura para todos os lados.
Ei-los, a despedirem-se. O irmão de Celeste, não se sabia porquê (aquilo devia exprimir fosse o que fosse), voltou logo para casa. E o Rogério... O Rogério, um sádico, demorava-se a enrolar um cigarro, pé aqui, pé além, sem pressa nenhuma. Por fim, lá lhe fez um sinal para que dividissem a distância entre ambos.
- Então?
- Para te ser franco... para te ser franco, não dou nada por isto.
- Mas que te disse ele?
- Está do teu lado. Não é mau tipo. Tem andado às turras com a irmã por causa desta porcaria. Mas não sabe muita coisa, a irmã não se descose. No entanto, é fixe e prometeu sondar o que se passa. Logo volta a encontrar-se comigo. E tu, à noite, aonde vais? " Talvez ao cinema, para me distrair. Bem, lá estarei.
- Mas ele garantiu que falava contigo?
- É um tipo fixe, já te disse.
- Vamos então a um café.
Sentaram-se a uma mesa, onde já estava o Flávio - o irmão do Rogério.
A cabeça de Flávio, no jeito de tartaruga, emergiu do jornal desportivo e, sempre com a solenidade que lhe mereciam todos os acontecimentos, mesmo os ba-nalíssimos, ele disse:
- O teu namoro, como vai?
Rogério fez um sinal discreto ao irmão. Mas o outro, com a sua perseverante tarouquice, ingénua e impudica, percebeu tudo ao contrário, insistindo:
- Escreveste-lhe?
- Como sabes?!
O outro sorriu com fatigada complacência.
- Era inevitável.
João Queirós levou a mão ao bolso e apresentou o rascunho de uma carta. O outro tomou posições, dobrando previamente o jornal para que ninguém o amachuçasse, e iniciou a leitura com uma ruga grave entre as sobrancelhas farfalhudas. João ia-o sondando, enquanto bebia o café em dois tragos. O facto de beber o café com esse nervosismo impaciente e espectacular era já de si indício que se prestava a colaborar com as prováveis observações, sempre conceituosas e funestas, do Flávio. Entretanto, mirou-se ao espelho, encovando as faces para que as sombras do rosto se acentuassemFlávio, afinal, foi breve na sua sentença. Disse apenas, afastando de si o rascunho:
- Tens pouca sorte.
João Queirós sentiu-se vexado. O comentário do Flávio adulterava o previsto dramatismo. Bolas: ele não era assim um pobre diabo a quem tudo corresse com anormalidade! Daí, corrigiu:
- É a primeira vez que isto me acontece. Rogério achou azado intervir.
- ...E ainda não sabes ao certo se aconteceu... Se ela tiver um poucochinho de cabeça, ao ler uma carta destas, asseguro-te que... Uma bela carta! Tomara eu escrever cartas assim.
Uma recordação emocionada fez comprimir a garganta de João Queirós. «Cartas destas mereciam ser encaixilhadas!» O bom do Nequitas! O grande e constante amigo! E, nesse momento, João Queirós sentiu-se simultaneamente infeliz e recuperado para tudo o que a vida tivesse de autêntico e perdurável.
Celeste gostava muito de cinema - embora saísse de lá sempre de nariz engelhado. Embirrava particularmente com os cenários. «Que cenários tão reles!», como se dissesse: «Ali vai uma mulher com uma saia de riscado.» Os cenários, para ela, eram a confirmação do fausto ou da pelintrice da película, e essa confirmação parecia-lhe decisiva.
João, intimamente, achava a frase grotesca, mas, se chegava a despertar-lhe o riso, conseguia reprimi-lo a tempo.
Celeste tinha, como todas, os seus artistas preferidos, de quem conhecia minuciosamente os gostos, as extravagâncias e as birras domésticas. O Dick Powell acima de todos. Que voz! Que beicinho carnudo! A um homem com uma voz daquelas bastava um aceno Para que qualquer mulher se lhe arrastasse aos pés. João Queirós nunca soubera cantar coisa alguma de jeito a não ser o clássico «meu nabo, meu grelo» das excursões académicas, e por isso sentia-se humilhado com o fervor de Celeste, que, aliás, parecia esmiuçar certos Peritos dos artistas apenas para o diminuir. Celeste também se impressionava com os dramas. «Enchiam-'he as medidas.» Harry Baur, Charles Boyer, eram, entre os trágicos, os seus sólidos favoritos.
Costumavam ir à tarde ao cinema. Esperava-a já dentro do átrio, para que os não vissem juntos nas ruas mais frequentadas, embora, uma vez por outra, ele lhe pedisse que passasse rente ao café onde se reunia o «seu grupo». Queria que ela visse os criados a cumprimentá-lo como um familiar da casa. Isto de pertencer a uma tertúlia e ser conhecido como cliente valia muito para a sua cotação. Também o envaidecia que Celeste lhe aparecesse quando ele estava em qualquer parte com os amigos. Abandonava-os logo («Aí vem a minha pequena, desculpem») e empinava-se nos bicos dos pés, ao mesmo tempo que levantava uma das sobrancelhas, para que essa ênfase nos modos fizesse esquecer a insignificância da sua estatura.
Felizmente para ele, Celeste não consentia que lhe pagasse o bilhete do cinema. E, mesmo assim, com a sua mania do «fino» (rosnava João Queirós entre dentes), obrigando-o a exibir-se nos lugares de balcão, já não era modesta a despesa para as suas posses.
Quando o filme não o entusiasmava - o que acontecia a maioria das vezes, visto que, nesses momentos, a única coisa de interesse era ter Celeste tão perto de si , os seus olhos preferiam fixar-se no rosto da namorada, que a penumbra da sala tornava mais sedoso e cúmplice, embora ela não gostasse dessas adorações enquanto o filme corria. Sentia os olhos de João a oprimi-la, a devassá-la, e essa sensação era inoportuna e incómoda.
Cem vezes preferível o ar livre, o campo, as escapadelas pelas veredas que se esgueiravam da cintura da cidade! Ali, sim, poderiam falar, fitar-se, poderia acariciar-lhe os braços ariscos. Nada havia como os passeios no campo. Ela, porém, não esquecia certas más recordações desses passeios, e João, por isso, raramente ousava enfrentar-lhe a resistência e o mau humor. Fora um domingo danado, esse, em que a persuadira, apesar de contrafeita, a irem até às colinas de olivedos, pinheiros e arbustos ramalhudos, onde um par de namorados não teria muito que recear o encontro com bisbilho-teiros. João Queirós estava radiante por vê-la de rosto ruborizado pela excitação, ávida de conhecer e experimentar tudo, flores, ervas, bichos. A aragem que subia da planície, quando chegava até eles vinha já túmida de mil odores. Celeste, ela própria, por várias vezes, tomara a iniciativa de lhe pegar nas mãos, apertando-as muito. João estimulava-a, triunfante:
- Vês, vês como é bom!
Porém, a certa altura, duas vacas desembocaram na curva da vereda, correndo sobre eles. Celeste fez-se pálida de espanto e terror. Agarrou-se-lhe ao braço, gritando para que a salvassem, gritando para que fugissem.
- Não sejas tola! São vacas. As vacas não fazem mal. Julgavas que fossem touros?...
- Mas têm chavelhos. E vêm furiosas!
- Qual furiosas. Correm, simplesmente.
Celeste ficou indecisa, um quase nada mais tranquila, mas os seus olhos esgazeados não deixavam de fitar os animais. Estes, já perto, pareceram do mesmo modo hesitantes e interrogativos. Também João Queirós, por fim, embora conservasse as sobrancelhas numa posição desdenhosa, achou que a inspecção das vacas era inquietante. Mas, antes que tirasse conclusões, as vacas, num repente, decidiram a ofensiva. E ele mal teve tempo de se lançar, com Celeste, para um talude.
Ficaram os dois arquejantes, lá no fundo, sujos e despenteados. Celeste, quando lhe foi possível, pôs-se a choramingar:
- E dizias tu que não eram touros!
OUTRAS HORAS DE ANOS ATRÁS
Com Maria Leonor, também dera os seus passeios, O primeiro, após laboriosa preparação, ficara combinado, enfim, para o domingo seguinte. Semanas antes, João Queirós insinuara-lhe qualquer coisa. Qualquer coisa que os seus lábios se recusavam a exprimir, embora todos os dias, cerrando as maxilas, saísse de casa disposto a heroísmos. «É hoje, caramba! Há-de ser hoje que lhe hei-de dizer!» Mas não dizia. Junto dela, as firmes resoluções esboroavam-se, hesitantes, lastimosas. Maria Leonor encorajava-o, amuava, ameaçando-o com castigos: «É assim uma coisa tão difícil de confessar?» Numa tarde, sob um aguaceiro, chegara a acompanhá-la até junto de casa, quase certo de que, dessa vez, no derradeiro minuto, se resolveria. Inutilmente. Ainda ficaram uns momentos na rua, a chuva a encharcá-los, mas as palavras enrolavam-se-lhe na garganta. Desistiu. No regresso a casa chamou-se todos os nomes que conhecia. Por fim, descobrira uma solução:
- O melhor será eu escrever uma novelazita onde me refira ao que quero pedir-te... lês aquilo com atenção, mas com muita atenção, e depois... dizes-me se te importas... se aceitas... se...
- Valeu. Está combinado.
Dois dias antes do passeio, João Queirós foi sentar-se no Jardim Botânico. Era Outono e as tílias desfolhavam-se, resignada e silenciosamente, cobrindo o chão de um tapete alaranjado - a cor do luto das árvores.
Aspirou profundamente a atmosfera de uma doce melancolia. Fez-se penetrar pela serenidade agónica e majestosa que o rodeava, árvore por árvore, folha por folha, e quando a coisa, depois de tantos apelos, formigou lá dentro, emergindo até ao cérebro e à garganta, pegou no caderno e, em transe, foi corporizando em palavras, imagens, lirismo, não a «novelazita», mas uma comovedora «Carta de Outono». Outono, pois. Árvores despindo-se do último crepe que as vestia, corajosas de se mostrarem nuas, dolorosa e terrivelmente nuas, dedos negros e proféticos espetados no céu. A referência ao seu desejo deveria ser uma subtil insinuação escondida nesse quadro sugestivo. Escondida para que ele pudesse averiguar se Maria Leonor também pensara já no mesmo, se fora logo procurá-la por detrás da roupagem fictícia.
Quando João Queirós terminado o trabalho, abandonou o jardim, num olhar enternecido agradeceu a tudo o que o cercava, pássaros, árvores e flores, a maravilhosa inspiração que lhe permitira escrever páginas tão persuasivas. E até chegar à pensão releu muitas vezes, de voz emocionada:
CARTA DE OUTONO Minha querida mulherzinha:
É Outono, fins de Outono... A chuva fustiga as derradeiras folhas empalidecidas de tristeza, quase mortas. ^ um prelúdio de agonias na Natureza e na minha
alma. Há tanto tempo que te não vejo!
Desfilam mulheres por mim, umas tristes como o Outono, outras alegres como a Primavera que há-de vir. Eu olho-as como se não olhasse; os meus olhos guardam-se para te ver, imaginando-te lá longe, onde te espero, numa casinha branca...
...uma casinha branca abraçada pelas roseiras em flor.
Ali não é Outono. Tudo canta uma elegia à estação da esperança. A casa tem um jardim e o seu perfume és tu. Quando sorvo o aroma das flores, é o teu perfume que procuro.
O mundo, em redor, ri de nós. O mundo não conhece o amor. Mas que importa que o mundo ria? Temos tudo o que desejamos: as roseiras, o sol, o amor, O tempo passa por nós pé ante pé, para não nos sobressaltar. Quando chega, encontra-nos abraçados; quando parte, deixa-nos de lábios unidos e sempre insatisfeitos.
...Mas isso é lá longe, onde te espero. Aqui é Outono. As árvores descarnam-se, o vento geme pelos valados. Fujo da rua, da chuva, do Outono, para a solidão do meu quarto vazio. E a chuva, escarninha, vem bater-me nos vidros.
E o Outono...
Quando parte, deixa-nos de lábios unidos... Então ela não daria logo pelo que estava oculto na frase? E, além disso, escrevera a carta com tal sentimento, destes que revolvem qualquer leitor, que, sem dúvida, a iria abalar. Casinha branca abraçada pelas roseiras em flor... Bem lhe dizia Maria Leonor, ela própria!, que o seu caminho na vida seria glorioso. Mostrara-lhe já o seu primeiro livro de contos, dactilografados reverenciosamente pelo Nequitas. Dois grandes contos, diga' -se, escritos de enxurrada nas aulas de Matemática, sob as aparências de um fervoroso colhedor de apontamentos... Um deles, «O Monstro Sagrado», era a história terrífica de um robot fabricado no laboratório de um sábio louco, de sobrancelhas demoníacas, que ambicionava dominar o mundo. O monstro tinha o poder de provocar naufrágios e tempestades com um simples sopro. O outro conto, «A Jangada», narrava o drama de um apaixonado sem esperança que acaba por suicidar-se no alto mar, no auge da tormenta.
Maria Leonor comentara, fitando-o demoradamente como se o visse pela primeira vez:
- Podes orgulhar-te deste caderno.
No dia seguinte, a primeira pergunta de Maria Leonor foi um sôfrego:
- E a novela? Já a escreveste?
Tal como João Queirós desejara; que fosse ela a falar no assunto.
- Já. Mas não é novela. É uma espécie de carta, a fingir, bem entendido. Chama-se «Carta de Outono».
- «Carta de Outono»... Que engraçado que deve ser!
Ele tirou-a do bolso, com gestos trémulos, e estendeu-lha um tanto desabridamente. Enquanto Maria Leonor ia lendo, demorando-se em certas passagens, João deglutia o nervosismo, fazendo bolinhas de papel e mordendo-as depois, como se mordesse o tempo e a expectativa. Reparou em pequenos nadas do caminho que, anteriormente, haviam escapado à sua observação. Quando lhe pareceu que ela, enfim, deveria ter chegado à frase importante, à chave do enigma, olhou-a rápida e tugidiamente, mas nada lhe notou de particular. Espica-Çou-a, então.
- Já sabes... agora?
- Não percebo, João, Palavra que não percebo, a ser que tudo o que aqui está é muito bonito. Mas encontro nada que...
- ...que eu possa desejar de ti? Nada?!
- Não te zangues. Talvez não tivesse reparado bem. leio outra vez.
- Vê lá bem essa parte quase no final... antes dos pontinhos...
- Quase no final? Então vou reler só essa parte.
- Como queiras. Mas, já agora, lias tudo de novo. Não gostara daquele desinteresse. Já que ela tinha
de repetir a leitura, custava-lhe vê-la desprezar os períodos tão musicais, tão poéticos, do começo e mesmo do meio.
- Sabes, João... Eu vejo aqui uma coisa que... Mas tu não me pedirias isso!
- E porquê?
- Ora... parece mal. Não me pedirias isso, pois não?
- É o que julgas?
Ia para continuar, confessando-lhe, áspera e altivamente, todo o seu melindre, mas bastou-se com a represália de não corresponder ao sorriso, um tanto indecifrável, mas talvez prometedor, da namorada. «Que palerma que eu sou! Porque não lhe atirei com duas palavras tesas, como todos o teriam feito no meu lugar? Se eu lhe dissesse, com duas pedras na mão, assim como quem não receia consequências: "Pois fica sabendo que é a última vez que te acompanho! Eu bem sei o que quer dizer essa recusa!" Não me pedirias isso. E porque não? Que é o amor? Que se espera de dois namorados? O amor, se calhar, é esta pasmaceira de palmilhar todos os dias, a seu lado, o caminho das aulas?»
Era então, nessas ocasiões, sob a mordaça que lhe aprisionava as palavras, sem dez réis de virilidade para se impor, que o espectro do colégio lhe turvava os olhos e a alma; o colégio com todo o seu cortejo de ameaças, penumbras, castigos, corredores conventuais onde não se podia falar, rir, viver; de camaratas espiadas do cubículo do prefeito; de desejos sufocados, ansiedades constrangidas. O ar precoce e postiço de todos eles, passeando a cidade arrebanhados como seminaristas, escondendo de professores e vigilantes sombrias e indecifráveis culpas. Escondendo a amizade, o sonho, a alegria. Certa vez, mais tarde, vira um camião de presos, mãos febris agarradas às grades, mãos violentas e angustiadas. Aquilo sugerira-lhe muita coisa dos anos de colégio, muita coisa informe do passado e do futuro e, nesse dia, fizera o voto solene (era então estudante do quarto ano do liceu e tencionava seguir a magistratura) de nunca condenar ninguém. Não havia culpa que justificasse mãos presas por detrás de umas grades.
No domingo imediato, vestiu-se com um esmero requintado - ele, um desleixadão! Escolheu uma camisa branca, abotoada de cima a baixo («como as camisas compradas feitas», dizia a mãe, contemporizadora e desvanecida, embora insistisse em que o bom senso e o recato aconselhavam as camisas fechadas junto das calças), pediu uma dose de brilhantina a um companheiro de pensão, berrou pela falta da gravata castanha, aos quadradinhos, última moda reclamada pelos vendilhões dos cafés, e - sempre o diabo do calçado! - cortejou o bonzarrão do Nequitas para que lhe emprestasse os sapatos domingueiros, os tais ligeiramente descosidos a trás, mas ainda bem jeitosos. Pediu uma autorização mais folgada à dona da casa, «pois que a família de um amigo convidara-o para um passeio de automóvel e, conquanto não fosse de festas, parecia mal não ceder à 'isistência do convite». A mulher consentiu. Quem as Pagou foi o Nequitas, visto que a dona da pensão tinha de ser severa com alguém e, já que se alargara em benelêcias desusadas, decidira imediatamente que ele lhe levasse uns «embrulhitos» ao comboio da Beira Alta, devendo logo regressar a casa, para não se perder na gandaia.
Quando João Queirós chegou aos Olivais (os sapatos luziam que era uma beleza!), já Maria Leonor o esperava, enervada. Batia com os dedos na carteirinha e o nariz afilava-se para o ar, como se apreciasse o rumo dos ventos. Ele desculpou-se com o almoço tardio.
Seguiram por uma estrada qualquer, à beira do pinhal. João apreciava-se ainda, enlevado, aprovando o bom gosto da gravata, na moda, o brilho imaculado dos sapatos, o vinco perfeito das calças. Quase se esquecia de contemplar o rosto adorado da companheira, o seu narizinho caprichoso e atrevido, na ponta do qual uns salpicos vermelhos, bolhinhas ou lá o que era, por inesperados e abusivos, lhe davam um ar talvez ainda mais adorável. Iam ali livres de espias, afastados de um mundo mesquinho, que parece ralar-se apenas com o que fazem, dizem e sonham os namorados.
Ela, a certa altura, olhando à volta intencionalmente, disse:
- Gostas de fazer colecções, João? Ele respondeu com displicência:
- Aborrecem-me um pouco essas coisas...
- A professora obriga-nos a apresentar uma colecção de insectos até às férias. E, até agora, nem apanhei uma mosca!...
João encarou-a, numa expressão matreira. Era uma oportunidade de lhe ser prestável e quem sabe se uma caçada aos insectos não se prestaria a...
- E se fôssemos a eles, Lena?
Era a segunda vez que a tratava por Lena. A primeira tinha sido certo dia em que ela lhe chamara João num tom de voz tão repassado de meiguice que só pudera responder-lhe com um Lena instintivo, impensado - apenas um pretexto para lhe revelar a sua comoção. Ela, porém, não gostara do diminutivo. Não compreendera.
«Lena é de Helena ou Madalena. Não me fica bem.» «Deixá-lo, é bonito!», insistira ele, desapontado. Cortaram por um dos atalhos que mais depressa os levaria a um campo de flores selvagens, crescidas à solta entre as oliveiras. Dali, no entanto, ainda poderiam ser surpreendidos pelos casais que prolongavam os arrabaldes. Ela estava inquieta. Poderiam vê-los de uma das janelas mais próximas e mais altas.
- E o papá, se soubesse?
Decidiram caminhar agachados, encobertos pelas searas. João aproveitou as circunstâncias para lhe enlaçar a cintura. Fê-lo, evidentemente, com timidez e precaução. Ela, no entanto, consentiu com um sorriso tolerante e ficou a olhá-lo, emparvecida. João teve medo desse olhar e retirou a mão.
- O teu cabelo, hoje, perdeu as ondas. Como foi isso? - perguntou ela, de testa franzida.
- É da brilhantina...
- Queres que tas faça? Gosto mais de te ver com o cabelo solto.
Se ele tivesse adivinhado, se Maria Leonor lhe tivesse dito isso há mais tempo!... E o trabalho que lhe dera domar o cabelo, crespo e indócil!
- Pois claro que gostaria.
Maria Leonor pousou a carteira num penedo forrado de musgo e passou-lhe brandamente as mãos pelo cabelo, enrolando-o, soltando-o, até lhe restituir parte da fúria domesticada. João sentia-se esgotado de felicidade. Não podia falar. Um gesto dele, porém, arrastou a capa de Maria Leonor para o chão. Ao curvar-se para apanhá-la, o descosido dos sapatos ficou a descoberto, bem em frente dos olhos de ambos. Subiu-lhe uma onda de fogo ao rosto, sentiu uma estranha revolta contra ela que também dera por essa inferioridade e a fixara demorada e pensativamente. Largou-lhe a cintura. Voltou-se, amuado, para o outro lado.
- Que tens, João? Porque te zangaste?
João. O mesmo João caricioso de outras situações em que não havia um calçado ridículo para o vexar. E foi o bastante para se lhe reacender a emoção. O João repercutiu dentro dele numa frase do mesmo modo enternecida: «Minha Lena!» Puxou-a outra vez para si, enquanto se estimulava: «Hoje, beijo-a! Beijo-a ou dou cabo de mim!» Saboreava-lhe já os lábios com os olhos húmidos e sequiosos, esses lábios que eram duas cerejas, tal como os das artistas de cinema. Beijá-la-ia talvez à bruta, espremendo-lhe a boca, fazendo-a sangrar. Era o que o Quinzinho, outro sabido, dizia que as raparigas preferiam: «A minha prima, depois de ver uma fita, quando regressávamos a casa, agarrava em mim e parecia uma sanguessuga. É do que elas gostam. Chamava-me, nessas alturas, todos os nomes dos actores da sua estima.» João Queirós ouvia e retinha a lição, embora lhe parecesse que não se deveria beijar assim a mulher de quem se gosta. No entanto, se elas assim o preferiam... se era verdade elas gostarem dessas violências... E, então, com um arrepio de receio, pensava que, quando chegasse a oportunidade de beijar assim a sua Lena, talvez não soubesse, ou não fosse capaz de imitar os actores.
- E as borboletas?
- São borboletas que queres? - disse, distraida-mente.
A caça aos insectos, com efeito, tinha sido uma boa ideia. Permitira, por exemplo, que se esquecesse o incidente dos sapatos. Os insectos, porém, eram esquivos, ágeis, imprevistos. E cada tentativa gorada assinalava-a ele com uma pressão mais intensa e atrevida dos dedos na cintura da rapariga. Foi então que, bruscamente, ela se escapou das suas mãos, caindo desamparada num barroco que a erva disfarçava. Maria Leonor achou muita graça ao sucedido e, entre risos, prestou-se a que ele a ajudasse a sair dali. Ajudou-a, sim, mas sem gosto. Não saberia explicar por que motivo aquilo o entristecera, o desiludira. A «sua Leonor» era frágil, caíra. As mulheres são frágeis, é certo. Mas a «sua Leonor» fora excessivamente frágil. Dera-lhe uma sensação de lástima, caricata e impudica. Procurou reagir a esses sentimentos, não muito definidos, mas a imagem da rapariga no fundo do barroco, uma perna desnudada, o rosto atónito e apatetado, era mais forte do que o desejo de se associar à sua jovialidade. Mais forte do que a ansiosa tentação de beijá-la. Veio-lhe à memória o dia em que a vira com uma meia rota. Sentira o mesmo.
Enfim, lá seguiram, monte adiante, ausentes das horas. Não procurava insistir com o braço. A cintura de Maria Leonor e o beijo tinham deixado de lhe interessar. O passeio terminara com a queda.
- Vamos àquele pinhal?
João não respondeu. Partiu um galho de uma carvalheira, torceu-o desabridamente com os dedos e seguiu-a na direcção do pinhal.
Passaram rente a um casinhoto de camponeses. Um cão ladrou-lhes, ameaçando investir. Que viesse! Rebentá-lo-ia com um pontapé. Apetecia-lhe tanto uma violência! Nunca gostara de cães, desde que o pai abrigara lá em casa um reles cachorro de margio, sem dono, com um dente arreganhado, que lhe dava o aspecto de raiva escarninha por quem lhe afagava o lombo. Esse dente filara-se nas canelas de João Queirós logo às primeiras tentativas de aproximação. O pai, confiante, «lançava que o animal estava pouco afeito a carícias, mas que não tardaria a ser um bom companheiro. João, Porém, preferira não se arriscar de novo e, poucos dias depois, foi cúmplice da mãe em oferecê-lo, à socapa, a um caçador de patos-bravos que vinha ali às revoadas.
A porta do casinhoto rangeu e uma mulherzita, de broa numa das mãos e a tigela de caldo na outra, interpelou-os:
- Para onde vão os meninos?
Que tinha ela com isso? Meninos! Ora o raio da mulher! Olhou-se meticulosamente, surpreso e revoltado. «Eu, menino? Eu, que tenho já quinze anos e namoro uma rapariga destas?» E mais dentro dele, uma voz reforçou, emocionada: «...que namoro a minha Lena?»
A intrometida persistia:
- Não vão para o pinhal, meninos. Agora com o sol a pino, está tudo cheiinho de cobras. E lagartos, também. Ontem, aqui perto, um deles entrou pela boca de um homem que adormecera deitado na caruma.
Horror! Lena, por sua vez, empalideceu e voltou-se para ele, aflita e interrogativa. Verdade seja dita que, se João Queirós receava os cães, os répteis ainda lhe eram muito mais antipáticos. E sobretudo os repugnantes. Lascivos, medonhos.
- Vamos então por ali... - disse ele, num tom condescendente que escondia o seu temor e o seu nojo.
- Por ali não haverá perigo? - inquiriu Maria Leonor da mulher.
- Acho que não, menina. Mas nunca fiando... A mulher troçava. João Queirós percebeu tudo Isso
naquele gesto equívoco de limpar as migalhas da boca à mão gretada e nodosa. Não limpava coisa nenhuma: encobria o riso.
- Os meninos são irmãos?
Leonor ia a responder afirmativamente, mas ele antecipou-se e declarou, arrogante:
- Não, senhora! Na-mo-ra-mo-nos!
E arrastou Maria Leonor para a vereda que se dirigia aos castanheiros. Era uma bela sombra. Larga e macia. Leonor estendeu a capa e fez-lhe sinal para que se sentasse. E sentou-se também, ao lado dele, sem a preocupação de resguardar as pernas.
João Queirós procurava não fitar descaradamente os joelhos redondos, a carne gorducha e suave entrevista para lá da prega da saia, mas a tentação tornava-se, por isso mesmo, mais imperiosa. As faces ardiam-lhe, o sexo exaltava-se.
- Linda tarde, João.
- E calor de mais.
- Porque não tiras o casaco? Eu vou despir o meu.
E despiu. A blusa de crepe, muito vaporosa, aos folhos nos ombros, deixava que os seiozitos, dois morangos graúdos e rijos, se empinassem, travessos e afogueados. E a blusa estava aberta à altura do primeiro botão!
- Tens a pele tão branca!
Fez o comentário sem o medir. As palavras chegaram aos lábios sem que o embaraço tivesse podido filtrá-las. Ela, contudo, não se mostrou melindrada nem surpreendida.
- Tenho, é verdade. A minha irmã diz que eu tenho um corpo muito bonito.
Mas logo se ruborizou. Só então, decerto, avaliara todo o alcance do que havia dito. Escondeu a perturbação a esgaravatar na toca de um grilo.
João embevecia-se ainda na beleza de Leonor quando reparou que um bando de formigas lhe trepava pela blusa, chegando ao decote.
- Não sentes nada? - insinuou.
- Não, não sinto. Porquê?
- Nada, mesmo nada?
- Nada, nada, nada - sublinhou ela, divertida. - Olha aí na blusa!
-Ai as malvadas!...
E fundiram os seus risos num só. Sentia-se maravilhosamente próximo dela, dos seus risos ou dos seus Pesares, dos seus sonhos ou desditas - e também do Seu corpo. E isso revelara-se-lhe subitamente e de um modo definitivo. Imaginava, sem esforço, que para trás tinham ficado já muitos anos de amor, de convívio, de felicidade. Estavam casados de há muito. «Viemos dar um passeio ao campo. É hoje dia de folga. Amanhã volto para o emprego. Ela irá despedir-se de mim, beijando-me, retendo-me sempre mais um minuto.» Todas aquelas cenas minuciosamente decoradas e vividas no tal mundo do seu íntimo refúgio.
Agora era necessário expandir toda a sua ternura. Todo o júbilo que o oprimia. «Amo-te, Lena!» Amo-te. Uma palavra piegas. As palavras, quase todas as palavras, desfiguravam os sentimentos. Amo-te. E uma pessoa, dito aquilo, deixava de amar. Não, não lhe diria esse horrível lugar-comum.
Foi então que uma decisão irreprimível, meio inconsciente, o levou, de súbito, a colar os lábios ao pescoço de Leonor, aprisionando com a boca, uma por uma, as «malvadas» formigas. Depois as suas mãos hesitantes ergueram-se heróicas para lhe apertarem a cintura, para lhe tocarem os seios - dois morangos rijos -, os cabelos, as faces. Não poderia falar. No entanto, sabia que lhe era necessário dizer fosse o que fosse. Por exemplo: «Que lindos seios que tens!», mas Leonor fitava-o de novo com o tal olhar misterioso e demorado, olhar que transmitia qualquer coisa como uma aterrorizada revelação. Por fim, sempre conseguiu dizer-lhe numa voz insegura e empastada:
- Tens uma cintura tão fina, Leonor!
- Muito, achas?
Não respondeu. De súbito, os lábios dela, a frescura carnuda da sua boca, que era efectivamente a boca de uma estrela de cinema, turvaram-lhe as indecisões e a consciência.
- Deixa-me beijar-te!
- Não, não!
- Só um, Lena! Por amor de Deus, só um!
- Não!
Procurou-lhe a boca com fúria. Ela escapava-se. Apenas conseguia roçar-lhe as faces, o queixo, o nariz. E foi quando ele ia a desistir que Leonor, num sorriso intraduzível, lhe aproximou, discretamente, os lábios.
Nunca lhe correra pelas veias uma sensação semelhante! A vida era maravilhosa. Tudo era maravilhoso.
Ficaram a contemplar-se demoradamente, apatetados. Os dois, agora, tinham o mesmo olhar fundo e misterioso. João Queirós começava a decifrar o sentido desse olhar. «Só lhe pedi um beijo. Deverei tentar outra vez? Apenas mais uma vez? Talvez não seja leal.»
Ouviu-se restolhar ali perto. Ergueram-se sobressaltados.
- Ouviste?
- Ouvi. Será... alguém?
- É melhor irmo-nos embora. Escapuliram-se pelo caminho areento, um pouco
afastados um do outro, como se tudo estivesse terminado. Como se houvesse um pouco de logro no que se passara entre os dois.
Leonor parecia enervada. Abria e fechava a carteira sem motivo aparente.
- Prometes-me uma coisa?
- Prometo.
- Juras?
- Juro. Que é?
- Nunca falares... disto a ninguém.
- Nem ao...
- A ninguém!
- Podes confiar.
Ao anoitecer, chegaram à cidade. João não fazia ideia das horas. Quando perguntou e o informaram - meu Deus, oito horas! - despediu-se à pressa e esfalfou-se a correr para casa, como se alguém o perseguisse. A ameaça da dona da pensão esperando-o à porta com o seu funesto nariz violáceo e o rosto de megera embriagada fazia-lhe as pernas ágeis, sem dar pela fadiga. Chegou, no entanto, extenuado. Investigou, com pavor, os recantos do átrio, as portas mais próximas. A velha não estava! Da sala de jantar, porém, desceu o ruído dos pratos a chocalharem nas mãos da criada. Era tarde! Terminavam já a refeição! O suor queimava-lhe a testa, escorria-lhe para as faces incendiadas. Subiu ao quarto, lavou-se atabalhoadamente e entrou, pé ante pé, na sala de mesa. A sala estava cheia: tinham aparecido visitas. Sentou-se na extremidade da mesa, longe do seu lugar habitual, numa ténue tentativa de passar despercebido - mas da porta da cozinha faiscou o olhar danado da patroa, trespassando-o, ao rubro, como uma queimadura.
NOVE HORAS DA NOITE
Partiu para o cinema muito cedo. Calculava demorar um quarto de hora até lá. Durante o trajecto abrandava o passo, fingindo, perante si, que o fazia sem intenção, mas nem por isso o ponteiro do relógio se espevitava.
Assim, quando lá chegou, havia ainda pouca gente. Foi gastando tempo a fumar cigarros, a rever uma e outra vez os cartazes publicitários. Por fim, o altifalante transmitiu uma modinha brasileira. Era o apelo aos indecisos que passavam na Avenida. Iam entrando grupos, escassos e sem pressas, sabendo que esperariam ainda um bom pedaço lá dentro, durante o qual se apreciavam as senhoras do balcão, que, por sua vez, dir-se-ia que vinham ao cinema para serem apreciadas. Afinal, daí a pouco, a onda engrossou. O filme era colorido, uma novidade.
Com receio de não descobrir o Rogério naquela confusão, pôs-se à entrada do cinema, no cimo da escadaria. Um polícia, porém, sacudiu-o asperamente.
"- Não pode estar aqui parado. Entre ou circule.
Circule... Que besta! Queimava-lhe o braço que o polícia apertara. Se fosse já um homem, o homem po leroso que estava certo de vir a ser, saberia como responder-lhe: «Por quem me toma?»
Subiu ao átrio do cinema e comprou, finalmente, um bilhete. Ia revendo as horas, minuto a minuto, e do Rogério - nada. Recordou outras ocasiões em que tivera de esperar indefinidamente pelo amigo, um molengão insuportável, que nunca se ralava de saber os outros impacientes. E, ao recordar, acentuava agora certas particularidades dos hábitos do Rogério, torturando-se em descobrir-lhes um significado deliberadamente odioso. O Rogério muito aprumado, o casaco sem nódoas, a cabecita de arrebela enfatuada. O Rogério de galochas e chapéu-de-chuva, justamente porque todos os outros consideravam ridículos esses acessórios. O Rogério de mangas arregaçadas no Verão, casaco dependurado no braço, desafiando as convenções dos «engravatados». O Rogério de andar lento e enjoado - sempre a exibir-se no palco dos comentários alheios, desdenhando igualmente os sarcasmos e os aplausos. O Rogério fazendo-o esperar em todas as circunstâncias.
«Mas por que motivo aquele tipo não jantou mais cedo? Poderia ter dito ao pai que precisava de estar às tantas com um amigo. Poderia, enfim, ter-se lembrado de mim.»
O átrio começava a esvaziar-se. E ele sem vir! Depois a campainha do cinema retiniu com mais insistência. Os reposteiros foram corridos. «Vou perder os documentários. Que malandro!» Nesse momento, detestava o Rogério. Detestava todos os retardatários. Mereciam desprezo todos os indiferentes ao que os outros possam sentir e pensar.
Um porteiro olhou-o com censura. João Queirós então, rendido, dispôs-se a entregar-lhe o bilhete. Iria porém, uma vez mais à porta. Nada. O Rogério que fosse para o Diabo!
O arrumador conduziu-o ao lugar. Na tela projectava-se um castelo. Bonita paisagem. Vira já qualquer coisa de semelhante. Onde? Numa revista? Alguém afastara o reposteiro. Uma luz receosa e intrusa escoou-se pela sala. Voltou-se alvoroçado, quase certo de que seria o Rogério. Não era. Ou talvez tivesse reparado mal. Uma senhora da fila detrás, ao vê-lo sem parança na cadeira, resmungou. Acomodou-se. Que fossem todos, mas todos, para o Diabo!
Meia hora depois, as luzes acenderam-se de repente. O intervalo. As pessoas, num gesto síncrono, puseram-se de pé. Correu os olhos pela sala. Num dos camarotes, o Rogério, com a cabeça de pássaro emergindo da família, fazia-lhe sinais. Subiu ao corredor do primeiro andar.
- Que raio! A que horas chegaste?
- Vim com a tropa, que queres? - e, como sempre, preparava meticulosamente o cigarro. Nada mais lhe importava do que o cigarro.
Era de esbofeteá-lo. Não se conteve:
- E então?
- Olha, pá... - e fechou de novo a boca, absorvido na manobra de domesticar uns fios rebeldes do tabaco. - Olha... - e lambuzou a mortalha.
João Queirós reparava agora, pela primeira vez, que o amigo tinha olhos de macaco. E mesmo a fronte, a cabeça... E não se decidia a falar.
- Escuta, meu velho... - e o cigarro necessitou de um último arrebique.
- Diz, gaita!
- Foi o que eu julgava... Ela passou-se para outro. João fechou os olhos por segundos. Sentiu um nó no coração; o corredor, o soalho, o luzidio das portas do camarote - tudo se esfumou num repente. Procurou uma frase, uma graçola, um disfarce para a sua dor. Mas os lábios permaneceram selados. A sua dor - nem o Rogério a merecia.
O amigo fumava com o vagar de todas as suas atitudes. Sacudiu a imaginária poeira das bandas do casaco, olhou-o sorrateiramente.
- Aquilo não te convinha, já não é a primeira vez que to dizem. É uma estarola. Não vê dois palmos adiante do nariz. De resto, tu não gostas dela. Duvidas? Pois asseguro-te. Sei o que essas coisas são. Um tipo passa-lhe pela cabeça que deve sofrer por uma cabra qualquer e sofre mesmo. Não foi isso? A cachopa não é feia, está certo, tem um palmito de cara jeitosa, mas, como aquilo, há por aí aos montes.
João Queirós estendia os braços para essa bóia que lhe lançavam de longe, do lado de lá da sua angústia. «Sim, é possível que eu não goste dela. A minha velha teima em armar uma tragédia de tudo o que me acontece. Em ser infeliz.» No entanto, a verdade é que eera realmente infeliz. «A cachopa não é feia, é certo...»i sso não podia o Rogério negar! Quem sabe se também ele a desejava? Todos lhe gabavam a conquista. Qualquer um se incharia de lhe chamar sua mulher. Sua mulher! Ninguém procurava as feias. Todos procuravam raparigas como a Celeste. E se alguém conseguia uma namorada bonita, ninguém lhe ia dizer: «Não te convém.» Então só ele não merecia uma Celeste? No seu caso seria necessário escolher-se um estafermo, «a mulher que convém»? A Celeste, agora, tinha outro namorado. E a esse ninguém aconselharia outra mulher, um estafermo que «conviesse».
A campainha retiniu. Os cigarros caíram, meio fumados, nos cinzeiros do corredor. Na plateia, os homens sorriam pela última vez às senhoras dos camarotes; nos lugares ordinários, lá do cimo, onde os espectadores pareciam galinhas empoleiradas, os homens esperavam que as luzes se apagassem para se cegarem um pouco mais às raparigas de xaile e lenço.
Rogério consolou-o com uma palmada nas costas.
- Não penses mais nisso, meu velho! O filme parece que é bestial!
Desceu as escadas para a plateia. E ficou certo de que o porteiro havia reparado na sua expressão amargurada.
O filme começou: um bosque de árvores altas e ramalhudas. Lenhadores. Uma pastora, sentada num tronco decepado, tendo qualquer coisa entre os dedos. Depois rompeu uma voz máscula e ampla. O cantor não se via ainda. Uma voz que repercutia por toda a sala. O colorido era bonito, como das estampas das «folhinhas» que os emigrantes enviam às famílias aldeãs. A pastora esquecera o que tinha entre os dedos. Apurava os ouvidos. A voz era um apelo e uma fascinação. A rapariga ia gostar do cantor. E Celeste? De quem gostava Celeste? Que faria ela a essa hora? Provavelmente, estava à janela, esperando o outro. A Celeste agora já não lhe pertencia e ele devia vingar-se de qualquer modo. Não podia receber assim um vexame sem reagir. Era preciso impor-se, ser viril, de uma vez para sempre. A rapariga do filme avançava uns passos ao encontro da voz, sorrindo para uma felicidade antecipada. Certamente a canção do homem já lhe era familiar. «E se eu me suicidasse?» Eis a solução: suicidar-se! Haviam de dizer, vergados à sua coragem, à sua desventura: «Matou-se por amor. Por Celeste.» Mas a morte não viria logo. Seria uma agonia demorada, dando tempo a que muita gente o visitasse. Ela também. De súbito, estando ele de olhos cerrados, já nos últimos momentos, abria-se a porta violentamente e Celeste entrava. Celeste, patética, implorar-lhe-ia que vivesse para os dois. O outro, quando soubesse dessa visita, ficaria com uma expressão imbecil.
O cantor, enfim, apareceu. Era um tipo forte. Cabelos espessos, encaracolados, um tronco largo que parecia ter feito rebentar as costuras da camisa desapertada. E o colorido continuava a ser bonito. A senhora que estava no lugar por detrás dele disse: «Isto é que é cinema!» Afinal, morrer seria exagerado. Depois da aparição milagrosa de Celeste, a morte significaria um epílogo estúpido. No entanto, os jornais continuariam a rondar-lhe a agonia: «Está gravemente ferido o distinto académico...» Etc. A mãe viria de Febres, também para o segurar à vida, e ficaria impressionada com os desvelos de Celeste. Todos unidos, todos reconciliados. O actor, agora, tomava de um braço da rapariga, seguiam juntos por uma vereda atapetada de ervas floridas. Outros lenhadores apareciam por entre as árvores, acenando aos amorosos. O público gostava. João Queirós passara em falso algumas cenas. «Os médicos teriam empenho em curar-me.» Melhoras a olhos vistos. Quando saísse do hospital, seria o braço de Celeste a ampará-lo. Os seus pais e os pais dela, certamente, decidiriam apressar-lhes o casamento. Todos unidos, reconciliados.
O filme acabou com os espectadores sentindo-se bem pagos da despesa feita. Lá em cima, nos lugares da ralé, uma criada de servir deu um bofetão num atrevido que lhe apalpara os seios. À saída da plateia, um senhor de monóculo inclinou-se, num gesto bonito, à passagem de uma senhora enroupada num luxuoso casaco de peles.
O Rogério acenou-lhe do camarote, numa despedida carinhosa. João Queirós, de volta à realidade, achou-se vagamente logrado. Não se suicidara ainda. Em vez de sair do hospital, pelo braço de Celeste, estava ali, de novo, nos degraus do cinema. Não havia um anjo a correr-lhe para o leito, a salvá-lo. Havia a noite, o buzinar dos carros à caça de clientes, os eléctricos zunindo nas calhas. O outro é que era o dono de Celeste, o vencedor.
Noite. Todos iriam dormir. A senhora que se irritara no cinema, por vê-lo remexido na cadeira, iria deitar-se com o marido, abarrotando de sono e aprazimento: «Bonito colorido. Aquilo é que é cinema.» E seria logo depois como um pedregulho atirado à água, como adormecem as pessoas que não têm dramas a corroê-las. Ele, não: iria para casa sabendo de antemão que não mereceria o sono, a tranquilidade, os pequenos ostos da vida. O Rogério dormiria. Antes de fechar a luz, porém, fumaria ainda o último cigarro, pachorrentamente, colhendo desse acto, mil vezes repetido, a mesma satisfação de um prazer acabado de descobrir. «A cachopa não é feia, é certo...» A Celeste não era feia. Mas quem diz isto não quer de modo nenhum afirmar que é bonita. Talvez, efectivamente, a Celeste não fosse tão bonita quanto ele, João Queirós, queria que fosse. O mesmo lhe acontecera com Maria Leonor. Para ele, Maria Leonor era uma beleza incomparável e, no entanto, tinha borbulhas no nariz e muitos dos seus amigos diziam que ela não era assim uma coisa por aí além. Lá na terra o Chico Ratado chegara a dizer ao pai de João Queirós: «O seu filho tem lá em Coimbra um namorico que, se passasse em Famalicão, adeus pernas!... São assim dois paus», e erguia verticalmente os dois indicadores. Maria Leonor não era, de facto, uma tentação. Só tarde dera por isso. Com a Celeste havia de acontecer o mesmo. Era agora a vez do outro lhe inventar belezas. O outro! Nada de esquecer: havia outro. Ele fora traído, ele -João Queirós! Não se devia furtar a essa evidência. Traído! Esquivar-se seria cobardia.
Sentiu-se exausto, incapaz de subir a pé o resto da ladeira. Ainda bem que vinha aí um eléctrico para o seu bairro. Acenou ao guarda-freio para que abrandasse a Marcha e trepou atabalhoadamente para o estribo. Se ti-Vesse escorregado... ou se tivesse calculado mal o gesto de se segurar ao varão da plataforma... Uma queda sobre as arestas da calçada e... pronto. Ter-se-iam facilitado as coisas.
Sentou-se num lugar isolado, longe da promiscuidade nesse momento intolerável, dos outros passageiros.
- Que bilhete deseja o cavalheiro?
O «cavalheiro», petulante e rufião, ou talvez irónico, irritou-o. Não foi bem irritá-lo: sacudiu-o para uma realidade intrusa e abjecta.
- Quem?! Ah, o bilhete... Quero um bilhete de sete tostões.
Pedira um bilhete daquele preço para descer, se o desejasse, em qualquer altura do trajecto. Talvez não fosse ainda para casa. Ir para casa, como nos outros dias, aceitar a rotina e a obrigação de deitar-se para dormir - tal como a burguesa do cinema -, seria diminuir a sua tragédia. Decidiria no último instante.
O condutor encostara-se na plataforma, mas voltado para ele, a observá-lo. «Que pretenderá este estúpido aldeão? Quererá troçar de mim? Irei ridiculamente sentado?» Podia bem ser: tomava sempre posições constrangidas de intrometido. Tinha sempre um ar de quem pede desculpa de se encontrar fosse onde fosse, e ao dar por isso, as suas reacções, de exageradas, eram mais comprometidas ainda. «Está a apreciar-me como a um colegial, a um fedelho. Se eu pudesse chamar-lhe parvo, rufia, ou qualquer coisa pior!» Resolveu descer do carro, não sem lançar ao condutor, de raspão, uns olhares onde se exprimiam insultos tremendos e ferozes.
A rua, mais uma vez. A rua e a noite. A noite com a sua falsa e cínica serenidade. Uma luz mais intensa, ao longe. Parecia o rescaldo de um incêndio. Havia sido por uma luz como esta que ele descobrira, numa das últimas férias grandes, a tal casa abandonada. Por entre os pinheiros negros, essa luz. Pegara na sua espingarda de pressão, numa faca de mato, numa bússola, como o teria feito um explorador timorato mas consciencioso,e cortara a direito pelo matagal. Lá estava ela, a casa fantástica. Paredes em ruínas, silvas e o ruído de bichos sobressaltados. Quatro pinheiros tinham crescido por entre as paredes interiores. No meio da noite pareciam fantasmas petrificados. Um vagabundo acendera uma fogueira do lado de fora, contra os muros, e partira deixando os gravetos a arder.
Só no regresso, depois de saltar a janela do quarto para não ser pressentido, João Queirós avaliara, transido de pavor, a perigosa temeridade de que fora capaz. Mas voltara lá muitas vezes, de dia, a mão lesta sobre o punho da faca, tendo feito um levantamento minucioso do local. Tantos metros de sua casa até às ruínas. Tantos metros de areias, ou de matos, ou de charneca. Marcara o caminho com sinais secretos. Era a sua descoberta fabulosa, o seu segredo, o seu covil de assombros, e só muito mais tarde, com orgulho, o dividira com uns poucos camaradas. Quem construíra a casa e fugira sem a terminar? Um pirata, um bandoleiro? E há quanto tempo?
Agora parecia-lhe que esse enigmático local de ruínas era o refúgio certo para o seu ressentimento contra Celeste. Contra o mundo. Devia partir de Coimbra, sem prevenir ninguém, e esconder-se lá. Viver como um bicho ou um eremita. O pior seria a noite, as sombras da floresta, os demónios e as bruxas acoitados nas paredes desmanteladas. Acenderia uma fogueira todas as noites ou perderia o medo. Ele próprio transformar-se-ia num demónio afugentando os curiosos; um Ro-bin temível que as mulheres adorariam mesmo sem o conhecer. O diabo era a casa ser tão longe e ele ter perdido a faca de mato e talvez também a espingarda.
Antes de mais, porém, havia o problema de gastar esta noite, túmida e angustiada, dentro da qual ele era um despojo de uma última vaga. A senhora do cinema já devia dormir a essa hora. O Rogério também. E a Celeste? Talvez não dormisse, talvez pensasse no outro, ou nele, João Queirós, um bobo entre as personagens dos seus sonhos. No dia seguinte rir-se-ia de novo dele, ao reler as suas cartas ao outro. As cartas, é verdade!
O código dos namorados não consentia que um deles retivesse as cartas de um amor desfeito. Devia exigir-lhe as cartas, essas cartas que eram o seu orgulho. Mas, por outro lado... «Se ela ficar com as cartas, acabará, mais cedo ou mais tarde, por admitir o erro de me haver trocado por um pateta qualquer. Ninguém escreverá cartas como as que lhe dediquei. "És diferente", dissera o director do colégio. As cartas serão um espinho na sua leviandade.» Estava resolvido: deixá-la-ia ficar com as cartas.
Coincidindo com essa importante decisão, João Queirós topou com um pedregulho na rua. Obras, buracos, pedras, sempre mais obras. Não se dava a ninguém o direito de ir distraído na rua.
- Raios os partam mais as obras! - refilou, em voz alta, João Queirós.
Mas ninguém lhe ouvira o protesto.
Descia agora uma nevoazita. As ruas desertas. Só ele e a noite, com a sua falsa serenidade.
O namoro com Celeste começara sem grande entusiasmo da parte de João Queirós. Depois do jantar, ele e os amigos costumavam reunir-se num dos bairros altaneiros e orgulhosos da cidade, onde vivia a rapariga. Era um bairro de famílias burguesas, crescendo sobre o planalto virgem que ia espreitar o rio quando este se espraiava, romântico, pelos bosques densos do Choupal-João Queirós e os Pedros (Pedro e Pedro II, para evitar confusões), o Florentino, o Rogério, começavam por jogar futebol até a polícia os espantar do terreiro e depois descambavam por qualquer das ruas que desciam à Avenida, sentindo-se heróis de uma perseguição tenebrosa. A vigilância da polícia era um pretexto para essa vagabundagem turbulenta, até que os códigos da praxe académica, bem mais severos, os obrigavam a recolher a casa.
Passavam habitualmente, por acaso ou premeditação, na rua da Celeste. Esta conhecia o Pedro de alguns bailes e sorria-lhe quando o via misturado no grupo. Todos eles, porém, acabaram por sentir esse sorriso um pouco seu, especialmente João, que procurava fazer-se notado, falando alto, apartando-se dos outros, fixando-a com os olhos melados de intencionalidade. Às vezes gastava os feriados das aulas lá por cima, encontrando-a então na lida da casa, sempre com um ar diligente e compenetrado, inventando justificações para sacudir frioleiras à janela. Todo esse bulício caseiro lhe parecia dirigido, a ele, que tinha uma mãe igualmente diligente e que desde sempre o aconselhava: «Vê lá com quem te vais prender! Não me tragas nenhuma palhaça cá para casa, dessas que passam os dias a borrar a cara em vez de cuidar do marido. Uma mulher preguiçosa é a perdição de uma casa, filho! Nada como uma rapariga da nossa laia.»
Era a sua maneira de insinuar que ele deveria escolher alguém que mostrasse os méritos fáceis de verificar em sua casa. Da «nossa laia». Celeste era uma dessas. Pintava-se um poucochinho, era verdade, mas sem exageros. E qualquer um poderia certificar-se, desde logo, que ela tinha prazer no asseio e no trabalho.
João Queirós sopesava essas razões talvez para não confessar a si próprio que a única coisa que lhe importava verdadeiramente era a beleza de Celeste, a graciosidade risonha dos seus modos e aquela adorável e precoce tendência para se sentir a abelha-mestra do seu ninho.
No entanto, apesar dos sorrisos, apesar de o Pedro lhe ter afiançado que Celeste era uma rapariga que nos bailes, não se encostava, não permitindo atrevimentos, João Queirós hesitava. Ainda não se inflamava daquele modo explosivo e trágico de outras ocasiões.
«Sinto-me gasto», justificava-se. «Toda a minha ternura se desperdiçou com a outra. Creio que só se ama uma vez.» Era isso: o amor não se repetia. O amor era uma coisa séria. E quase odiava a lembrança de Leonor por ter esgotado, com ela, e sem glória, a sua vocação para o amor.
Mas... O Pedro tinha namorada. O Pedro II também. Todos os do grupo, menos o Cristiano, que era um estouvado, um brejeiro, incapaz de um afecto sólido, profundo, que exige tudo de quem se lhe entrega. João Queirós, no meio deles, sentia-se afinal um solitário, um proscrito. Havia nessa solidão o pressentimento de uma infelicidade descarnada e estéril. Necessitava de uma mulher que o renovasse, que lhe fizesse reacender a ternura. E Celeste era bem mais bonita do que Maria Leonor. Esta, enfim, não podia chamar-se feia, mas desdenhava todas as coisas que tornam uma mulher sedutoramente feminina. Ria-se, por exemplo, das que faziam bordados, rendas, chamando-lhes depreciativamente «burguesinhas». Só agora João Queirós dava importância a essa frase. Toda a vida a mãe de João Queirós fizera rendas, bordados, e ele tinha orgulho em que assim acontecesse. «Burguesinhas». Que petulância! Mas tudo isso, no fim de contas, era passado. Maria Leonor não merecia que ele se preocupasse com tão ruim memória.
- Bem, se, de facto, simpatizas com a moça, aproveita enquanto ela está com escritos. Põe-te com adiamentos e chegarás tarde! - dizia o Pedro I.
Desse modo, João Queirós foi-se habituando à ideia de que gostava de Celeste e, de um dia para o outro gostava mesmo. A partir desse dia, o seu ardor tornou-se tormentoso e desesperançado. Havia os lábios grossos e tudo o resto. Maria Leonor, porém, afeiçoara-se-lhe, apesar disso. Aconteceria o mesmo com Celeste. Fora pelas suas singularidades, e não pelo físico, que quebrara o desdém de Maria Leonor; deveria pôr em jogo os mesmos recursos nessa nova paixão. Foi assim que resolveu escrever-lhe duas cartas por semana, em dias previamente fixados. Os amigos apoiaram o plano. Só o Cristiano discordava; as coisas tinham de ser feitas à bruta, de repelão. «Não lhe dês carne para ela filar os dentes. Deixa-te dessas merdices.»
Mas era tarde para que alguém pudesse apoucar-lhe a ideia. A história das cartas satisfazia-lhe a vaidadezi-nha. «Sou diferente dos outros.» No entanto, havia um pormenor astuto no seu plano: ele não assinaria as cartas. Iria intrigá-la, levando-a a apaixonar-se por um desconhecido. Quando, enfim, já certo que ela estaria rendida, se identificasse, Celeste viria, dócil, fechar-se nas suas mãos. «É assim mesmo», opinava o Pedro I. «A curiosidade, numa mulher, é a melhor isca para o amor. Com três ou quatro cartas das tuas, fica pelo beicinho.»
«Cartas das tuas.» Como os amigos o admiravam!
- Mas se ela pensa que as cartas são escritas por um tipo das suas relações e fica a gostar dele em vez de... - receou João Queirós.
Era uma dúvida grave e legítima. O silêncio dos companheiros foi elucidativo. Sim, de facto, o mistério tinha alguns riscos.
- Bem, nesse caso deverás levantar um poucochinho o véu... Dar-lhe uma pista.
O Pedro era um camaradão de ideias oportunas e engenhosas.
João Queirós foi escrevendo com regularidade. Certa vez, chegou a levantar-se muito cedo, antes da primeira tiragem do correio, para que a carta seguisse no dia rigorosamente planeado. Dera-lhe já a tal pista. Esboçara no cinema, ostensivamente, a lápis negro, um retrato de Celeste e enviara-lho juntamente com a carta esperando que ela se lembrasse que o tal companheiro do seu conhecido Pedro, aquele mais franzino e ne-grusco, a fitara insistentemente no cinema, enquanto rabiscava num papel. O pior é que Pedro não achara o rabisco persuasivo; e o Rogério dissera, cruamente, que aquela careta tanto podia ser de Celeste como de certa rameira do bairro académico. Imbecis! Não sabiam que um retrato não era necessariamente uma fotografia.
A verdade é que Celeste, nessa mesma tarde, o cumprimentara discreta mas animadoramente. E, dias mais tarde, a coisa rebentou: nomezinho por extenso, na mais comovente das cartas, escrita sobre uma dúzia de rascunhos. Marcaram, sem demora, o primeiro encontro.
- Sabe... eu sou muito nova... - e procurava resguardar os gestos nalgum esconderijo do vestido. Olhar baixo, rosto purpúreo. Depois, um rafeiro quezilento fê-la erguer os olhos para o muro de um quintal, olhos receosos e vagos que não eram bem para o cão ou para o muro, mas sim para as palavras que esperava de João Queirós e que tardavam.
Também as mãos dele não encontravam posição nem tranquilidade: subiam dos joelhos para os bolsos, desciam dos bolsos para os joelhos. Ele tinha previsto frases infalíveis para aquela circunstância, mas todas se evolavam da memória. Sentia o cérebro vazio e atordoado. Por fim, como se as palavras não lhe pertencessem, lá conseguiu atabalhoar:
- Não é razão... bem vê... não é razão. Quando se começa cedo, quando nos conhecemos cedo... compreendemo-nos melhor mais tarde...
Cedo... tarde... Que confusão! Que inépcia! No entanto, ela parecia avaliar esses argumentos. E, surpreendentemente, anuiu sem mais hesitações:
- Então... pois sim.
Pois sim. Teria ouvido bem? Era assim tudo tão fácil? Ah, se não estivessem ali no meio da rua, como nus, no centro de um pequeno mundo ávido e feroz, com uma velha afastando as cortinas da janela, um polícia com as mãos enroladas nas costas, espichando o ventre obsceno, um garoto a apregoar bananas!... Se o chão abrisse ali mesmo uma cratera, onde se escondessem!... Haveria de beijá-la nos olhos, nos cabelos, na boca, em toda a parte! Mas a velha continuava a espiar a rua, o polícia colara-se ao passeio, o garoto guinchava um pregão a cada porta, e a rua permanecia calma e intacta, sem grandes disposições para um cataclismo.
- Obrigado, Celeste!
«Obrigado.» Que imbecilidade! Então o amor agradece-se?! Ela, decerto, iria ficar mal impressionada.
Horas depois, porém, João Queirós esquecia esses deslizes. O que importava era o acontecimento em si, a anuência de Celeste.
João Queirós, nesse dia, pagou cervejas aos amigos. E até o Florentino o olhou como a um triunfador.
Falavam-se duas vezes por dia, de fugida. Quando algum contratempo o impedia, contentavam-se em retribuir, mutuamente, uns sinaizinhos até para eles próprios indecifráveis. A coisa tornara-se já notada: a vizinhança ria-se, descaradamente, quando ele passava, embora João confiasse em cada novo disfarce para os iludir. E um dia cerrou os dentes e enfrentou essa gentalha com insolente arrogância.
Aos domingos, Celeste ia invariavelmente a uma sessão de cinema da tarde e ele via-se forçado a descobrir dinheiro, fosse como fosse, para estar presente. Escolhia um lugar que, embora a uma distância prudente, o fizesse sentir que a acompanhara ali. De uma vez, porém, ela chamou-o, indicando-lhe uma cadeira vazia a seu lado. Tinha vindo apenas escoltada pelo irmão, que, fingindo-se muito interessado na leitura do programa, numa expressão de desdenhosa cumplicidade, se prestara à manobra. Mas enquanto João Queirós, ainda temeroso da audácia, se aproximava com mil rodeios, um garoto atrevido saltou por ali fora, pisando aqui, empurrando acolá, indo sentar-se no lugar indicado por Celeste. Ela ficou varada. E João sentiu que esse desagrado lhe era sobretudo dirigido, às suas cobardes indecisões. Então, furioso, gritou para o intrometido:
- Ó catraio! Sai daí!
Tinha sido uma frase reles - mas viril e eficaz. O garoto obedeceu de olhos baixos, e João Queirós, gasto o arrebatamento, sentou-se ainda mais confuso e embaraçado do que o outro ao retirar-se.
- Gostas do filme? - dizia Celeste, estimulando-o a mostrar-se à vontade.
João, antes de responder, sondou o irmão da rapariga e ciciou:
- Não é mau de todo...
UMA HORA DA NOITE
Foi subindo, sem pressas, a rua deserta e íngreme.
Quando ia a entrar em casa, olhou, por acaso, a janela da frente: Florinda, apoiada no parapeito, uma das mãos perdida entre os cabelos, parecia esperar um acontecimento da noite. Ou uma mensagem. Ou uma exortação.
A rua estava deserta, as pessoas tinham-se recolhido, como bichos hibernando numa toca, mas Florinda não dormia ainda. Esperava fosse o que fosse. Para João Queirós e para Florinda a noite não era esse rio manso onde as fadigas mergulhavam, súbita e definitivamente.
João Queirós demorou-se um pouco a apreciar o gesto lânguido ou deslumbrado da rapariga - e, de repente, entrou em casa. Ao subir as escadas, espreitou o quarto do Pedro (não havia, é claro, fecho nas portas). A cama estava vazia. Acendeu a luz e sentou-se.
Tinham deixado a janela aberta. Em contraste com as janelas do andar de cima, esta era quase rasgada até ao tecto. Dava para um pátio atulhado de ferro-velho e despejos, onde, todas as noites, latia um cão. No entanto, o quarto do Pedro era disputado justamente porque dali se podiam observar os moradores da cave, para o pátio, mesmo abjecto, era o único espaço propício a algumas tarefas caseiras. Aparecia lá muitas vezes uma rapariga de seios provocantes. E quando ela se debruçava para descobrir, no meio do lixo, qualquer utensílio de uso imprevisível, a nesga das coxas que ficava a descoberto não era menos perturbante.
O cão, ao pressentir João Queirós lá em cima, começara a uivar. Uivava, talvez, sobretudo, para a nevoa-zinha fria que adensara sobre a noite. A presença de João Queirós fora um pretexto e daí a nada o inferno de cães que havia nessas vielas do bairro acompanhá-lo-ia num coro lancinante de presságios.
João Queirós ia estudando a atitude em que o Pedro deveria surpreendê-lo. Queria impressionar o amigo. Mas cansou-se da espera e, começando a sentir frio, cerrou a janela, deitando-se depois em cima da cama. O sonho vinha aí ameaçá-lo, mas seria ignóbil aceitar que isso acontecesse. Ele não podia adormecer!
- Então que é isto? Párias nos meus régios aposentos? - Contra todas as previsões, o Pedro entrara sem ser pressentido. Teria dormitado nesse curto espaço de tempo? Indecente! - Ainda não te deitaste? Foste ao cinema, estás com cara disso...
- Fui.
- Que tal? Dizem que é colorido...
- Vê-se.
Pedro, farejando a atmosfera, pôs-se a coçar o nariz.
- ...E agora queres uma dose de paleio, não? João Queirós sentou-se na borda da cama, mãos arrepanhando o rosto.
- Sim, esperava por ti. Preciso de desabafar, de não me sentir só.
- Diabo, a coisa é séria... Troca lá isso em miúdos.
- O Rogério conversou com o irmão dela. O Rogério já desconfiava.
- Pôs-tos?...
João Queirós franziu a testa à brutalidade da pergunta. O amigo emendou sem demora:
- É preciso levar esses contratempos a rir. O mundo está cheio de mulheres. Lembras-te quando foi da Aida? Rabiei também por aí, mas depois... Eu não te tenho dito que o género sopeira é que rende? Chega-te às boas, pá, e enches o papo sem chatices... Segue o meu exemplo.
- ...Mas eu gostava dela!
Tinha sido uma lamúria ridícula, a frase de um garotelho.
- Tens uma queda danada para essas coisas. - A eloquência de Pedro esgotara-se e ele bem sentia que naquelas ocasiões se tornava necessário ir mais longe. Enfadado de não conseguir atinar com qualquer argumentação consoladora, e sobretudo enfadado com o amigo, que o colocava naquela incómoda situação, disparou, de súbito: - Se queres ficar aqui esta noite... Conversaremos. Conversando, a gente distrai-se.
E, dita a frase, julgou ter cumprido, integralmente, o seu dever de solidariedade.
Deitaram-se os dois, lado a lado; Pedro, gentilmente, cedeu a almofada ao amigo. Ficaram a olhar o tecto, cismando. Pedro procurava que as mágoas do companheiro o contagiassem, se lhe infiltrassem, para que o seu papel de confidente pudesse ser desempenhado com maior veemência. João perseguia novas recordações, novos tormentos. Já não aconteceria o mesmo com Celeste, que, decerto, a essa hora, o esquecera por completo. Ela sonhava com o outro. A senhora do cinema também deveria sonhar com alguém. Talvez com o cantor do filme. De qualquer modo, Celeste, a burguesa do cinema e todos os outros dormiam. Todos tinham podido adormecer tranquilamente, sem amarguras, sem alvoroços. A cidade dormia, arrepiada sob o manto de névoa. Arrepiada, encolhida - como um corpo transido de frio, ou de sono, ou de medo. Ele e o Pedro é que não dormiam. Mas toda a cidade dormiria? A rapariguinha da frente, por exemplo, sempre vestida de luto, ainda há pouco se mirava na noite como num espelho de solidão e devaneio. Talvez ela também não pudesse dormir. Talvez a noite cúmplice e dúbia lhe anunciasse uma promessa.
Florinda gostava, provavelmente, de alguém. Como ele. Seria uma boa companheira para quem, também como ele, tivesse sido burlado no jogo da vida. E quantas Florindas, quantos Queirós por essa noite além!... Ele não estava só na sua vigília. Nem toda a cidade dormia. Lembrava-se agora de quando perdia noites com o Pedro ou o Cristiano, vadiando pelas ruas, ao acaso, espreitando, com atemorizada mas fascinante curiosidade, as tabernas, as casas de má vida, onde um mundo turvo e espesso, um mundo interdito, se prolongava até ao alvorecer. Era gente que, como os morcegos, procurava um destino cego na obscuridade. O dia, a luz, os outros homens, feriam-lhes os sentidos, escancaravam-lhes as frustrações. A noite era compreensiva e irmã.
Lembrava agora breves episódios e comparsas dessa solidão nocturna. A cauteleira de óculos negros, cabelos proféticos desgrenhados, peito murcho, ossos sem carne, guardando a entrada das tabernas com o seu estribilho rouco e vicioso: «Jogo de mulheres dá sorte. Comprem jogo à velha anarquista.» (Os bêbados chamavam-lhe «anarquista», ou ela própria se alcunhara com esse nome de guerra.) E os homens entravam e saíam e nenhum deles lhe aceitava o jogo. E a velha, de cada vez, deixava cair os braços num gesto abúlico, como se lhe fosse já indiferente vender ou não a mercadoria; como se o importante fosse estar ali, noite após noite, viva e mostrando-se viva, repetindo, como um fado, a ronda das horas. E as prostitutas? Quando dormiam as prostitutas? Os candeeiros velados de sono e, entre portas, elas permaneciam emboscadas, dentro da noite secreta e interminável. Quando dormiam as prostitutas?
O cão do pátio uivou mais agudamente. Pedro remexeu-se na cama.
- Sempre esta música danada! Lá em cima, no teu quarto, não os ouves?
- Ouve-se menos. Aqui é pior.
- Pois é - e o Pedro, meditabundo, cruzou as mãos sobre a nuca. - Mas gosto do meu quarto. Cheira a porcaria que tresanda, do bafo que vem do pátio, mas dá-me a ideia que vivo noutro mundo, só meu, hem? Às vezes um tipo de Medicina, que tem o quarto do outro lado, toca guitarra. Toca para a pequerrucha da cave, a «patriota»... Sabe bem ouvi-lo.
O Pedro estaria a ser sincero ou procurava apenas distraí-lo? Ele já devia estar farto.
- ...Quando o ouço tocar - continuava -, em certas noites, apetece-me morrer. Mas sinto prazer com essa tolice. Saberás explicar tudo isto? Lembras-te daquela vez em que combinámos suicidar-nos juntos? Enfiávamos um facalhão na barriga e assistíamos depois, por artes mágicas, ao espanto e rebuliço dos outros. Tinha na verdade um piadão se, depois de mortos, pudéssemos continuar como espectadores. O pior era a facada nas tripas... Devia doer como o diabo! - E mudando bruscamente de tom: - Ninguém acredita que eu tenha horas azedas. Só tu, João, sabes um pedaço da minha vida.
Agora a névoa despegava-se, deixando-se romper Pela claridade da Lua. Pedro foi apagar a luz. No quarto derramou-se o halo misterioso que penetrara pela ja-nela. Pedro deu uns passos moles à roda do quarto, talvez lutasse com o sono ou talvez a atmosfera enluarada, estranha, e as desventuras do amigo, o contagiassem de uma melancolia que, nele, teria de ser um tanto agressiva.
- Eu, no teu lugar, vingava-me. A gente confia nessas porcas e depois... é o que se vê.
A neblina, num repente, concentrara-se junto do rio. No céu, agora liso, o luar era um dia álgido e pasmado. Pedro encostou-se às grades do leito, de olhos excessivamente abertos. João Queirós chegou a supor que ele adormecera assim mesmo. Não tinha o direito de lhe estragar a noite.
- Vou-me deitar no meu quarto - disse João Queirós.
O amigo, estremunhado, passou a mão pelos olhos.
- Deixa-te estar.
- Se fico aqui, não te deixo dormir.
- Eu por mim, bem sabes, não me faz diferença; mas se tu já estás resolvido a uma soneca, não te prendo...
João Queirós sorriu, indulgente, à ingénua manobra do Pedro, e apertou-lhe a mão com força.
- Até amanhã. És um compincha.
João Queirós subiu as escadas, entrou no seu quarto e abriu a janela. Florinda permanecia no seu posto. Agora que a névoa se fora, que o luar lhe encharcava o sonho e a rua, a rapariga estava mais próxima daquilo que esperava.
MAIS HORAS DE ANOS ATRÁS
Na véspera da abertura das aulas, o pai acompanhou-o à nova pensão, na Rua dos Militares, nº 13. A casa, já com uns séculos por cima, modificada sem grande coerência e propriedade por sucessivos donos, impressionou-o desfavoravelmente. Talvez, sobretudo, por ter lido, logo à chegada, o número treze na porta. E ele que era supersticioso! E com fortes motivos, aliás, pois bastava-lhe um breve assobio antes do pequeno-almoço - «nunca cantes em jejum, é sinal de dia triste», acautelava-o a sabedoria da mãe - para ser chamado à lição nessa manhã. Às sextas-feiras, então, o azar era inevitável!
Puxou pelo braço do pai e apontou-lhe, num gesto breve, o fatídico número. O pai fez um sorriso trocista, penteou as sobrancelhas com os dedos, declarando que tais números eram, pelo contrário, de bom agoiro, pois, perante as superstições, fazia-se logo a destrinça entre um homem fraco e um homem forte. João Queirós deveria ter sempre presente que, no seu caso, havia uma herança a respeitar: o pai era daqueles que, no tempo das lutas dos progressistas, limpara à pistola todos os covis dos regeneradores.
Veio recebê-los um rapaz magro, de uns dezanove anos, cabelo cortado à escovinha. Mediu João Queirós com sobranceria, apresentando-se como filho da dona da casa. Cristiano Gonçalves. A mãe tinha saído a umas compras, mas não devia tardar.
À noite, o Cristiano fez as honras de hospedeiro, convidando-o a uma «passeata». João Queirós sentia-se ainda atordoado com a balbúrdia do ambiente, durante o jantar, e escusou-se. Preferia recolher-se ao quarto. O outro não gostou da recusa (não admitia que alguém se negasse a uma noite de bródio, quanto mais a uma inocente «passeata») e insistiu no convite por uma questão de amor-próprio. Mas qualquer que fosse a resposta de João Queirós, Cristiano já o classificara como um perfeito «anjinho».
Acabaram por sair os dois. Quando subiram as escadas de uma viela que encurtava o caminho para os cafés do bairro, o Cristiano deixou-se ficar um pouco para trás, a fim de apreciar melhor certos pormenores já evidentes a uma primeira observação, e concluiu o seu juízo: «O tipo não é só anjinho. Sobe as escadas como um pinguim.»
Entraram no café mais ecléctico, onde não fosse tão notado aparecer com um novato ridículo, e Cristiano, pegando num taco de bilhar, convidou, meio enfastiado:
- Vamos a uma de vinte e cinco?
- Não sei jogar.
Incrível. Aquele gajo viera despachado directamente das saias da mãe. Daí em diante, João Queirós poderia fazer e dizer maravilhas: Cristiano considerava-o um assunto arrumado.
Isto pensou o filho da dona da pensão. Mas a vida é de imprevistos: do prever ao acontecer vai uma distância que não há metros para a medir: com o rodar dos dias, de atritos, de zangas, com o convívio forçado de meses sucessivos, acabaram por se compreender, por se ajustar. Por serem unha com carne.
Estava irrevogavelmente assente que, no dia 6 de Outubro, João Queirós partiria para Coimbra, rumo ao famoso Colégio S. Luís. Colégio caro. Mas os pais de João Queirós, por essa altura, podiam suportar o risco das despesas de um colégio burguês, pelo orgulho de todos saberem o filho misturado com gente da alta.
Na véspera desse dia solene, o Sr. Hernâni, que fora o seu brioso mestre-escola, viera jantar com os pais de João Queirós. Jarras de flores ao centro da mesa e toalha de folhos até ao chão. À sobremesa (um monumental e saborosíssimo pudim, acompanhado de vinho do Porto com dizeres ingleses no rótulo), o Sr. Hernâni, mais comunicativo do que era costume, brindou pelos estudos de João Queirós, que, «decerto, iriam prosseguir tão brilhantes como até aí, considerando os seus dotes, herdados de tão ilustres pais». Ao chegar a «ilustres pais», pelos olhos do Sr. Hernâni passou um clarãozinho de velhacaria. Mas só João Queirós o apreendeu. Aliás, desde o assado que os olhos do professor lhe pareceram suspeitos, que a sua voz, e particularmente o rosto, mais entumecido e rubicundo do que era habitual, sugeriam qualquer coisa de duvidoso... Seria possível que o Sr. Hernâni... Não, era um sacrilégio supô-lo. Um mestre não é um bebedolas. De um mestre não se pensam essas coisas.
Mas com ou sem excessiva eloquência, o Sr. Hernâni tinha razão. Lá preguiçoso nunca seria! Desde aquela vez em que caíra desmaiado junto do mapa de geografia, depois de horas sem conto a repetir Peneda, Gerês, Padrela, Marão... e tem como afluentes da margem direita Sabor, Tua, Corgo..., desde esse glorioso dia, os pais e o professor apontavam-no, definitivamente, como exemplo, aos cábulas da vila. Até desmaiara, pois. Era, de facto, uma glória. Lá estavam os canudos enlaçados em fitas de seda para o atestar. Distinto com dezanove valores. Distinto com dezoito valores. Os cábulas que o imitassem.
Boas recordações, ainda que tão próximas! Não que ele fosse dado aos livros de estudo. A sua febre de trabalho era, pura e simplesmente, temor: temor dos berros do Sr. Hernâni, temor da mãe, e ainda, e muito particularmente, o seu modo de compensar a timidez e a frustração, que o enxovalhavam perante os companheiros, com qualquer coisa que os outros devessem invejar. Um dia seria alguém. Teria de ser alguém! Aqueles que o amachucavam de alcunhas, apenas porque era um desastrado em todos os jogos, aqueles que o enxotavam dos bandos secretos, com os seus rituais sinistros e fascinantes, os seus códigos e os seus insondáveis esconderijos, um dia haveriam de orgulhar-se de, nos tempos de escola, terem sido seus condiscípulos. Escolheria uma carreira invulgar. Pensou algumas vezes em ser almirante, qualquer coisa como um corsário dos tempos modernos; ou um grande músico, ou um aviador temerário, ou mesmo papa. Papa seria formidável.
O Sr. Hernâni, estimulando-o, a maioria das vezes aos berros e à bofetada, fora até aí um grande obreiro desse futuro prodigioso. Sentia por ele uma espécie de aterrorizada veneração. Mas, em certos momentos, odiava-o, odiava-o simplesmente, sem outro sentimento misturado. Odiava-o porque o temia, porque ele lhe estrangulara o que havia em si de rebeldia, e odiava-o agora, por exemplo, porque, forçado a obedecer-lhe em todas as circunstâncias, abarrotara o estômago durante o jantar apenas pelo facto de o Sr. Hernâni ter decidido que essa refeição significava uma reserva para os dias decisivos que se avizinhavam. «Come, João! Precisas de ganhar forças para sete anos de liceu. Deita-me lastro nesse corpo.»
Sentia-se cheio como um tortulho. Rebentava. Desapertara já, com todo o recato, as calças, depois as cuecas, mas o odre, quanto menos cilhado mais inchava. Sabia que o Sr. Hernâni se retirava infalivelmente às dez horas, estivesse onde estivesse, e, por isso, durante as sobremesas só uma coisa o interessou: a marcha do ponteiro do relógio para o instante de alívio em que, liberto do Sr. Hernâni, pudesse correr ao quintal.
Noite fora, João Queirós conheceu a sua primeira insónia. Revolteava-se na cama, mudava de posição, cobria os braços com os lençóis, arejava-os... inutilmente. Daí a poucas horas, ao alvorecer, começaria a grande aventura da sua vida. A mãe sentiu-o inquieto e, para lá da cortina que separava os quartos, perguntou:
- Tu não dormes, filho?
- Acordei agora. Adormeço num instante.
- Mas estás maldisposto?
Não, não estava. Despejara o estômago no quintal, um minuto depois de o Sr. Hernâni se despedir. A agonia passara. Tudo passara. Mas o alvoroço era maior do que todas as agonias. Como poderia dormir na véspera da partida para o colégio? E afeito a que todas as coisas se misturassem com o medo e a insegurança, inquiria: «Como será o colégio? E a malta?» No colégio certamente não haveria um Sr. Hernâni, tremendamente hercúleo no seu capote majestoso, não haveria horas certas para dormir, para comer, para estudar, e os enervantes cuidados maternos que lhe policiavam todos os desejos e movimentos. Ia ter amigos e liberdade. Ia conviver apenas com gente da sua idade - sem mães, sem guias, sem professores malvados. Ia viver.
No entanto, o Martinho - ex-interno do seu futuro colégio - dera-lhe algumas instruções desconsoladoras: «Acautela-te com o director. Quando menos o esPeras, põe-te a pão e laranjas. E um dos prefeitos é Sacrista. A malta, claro, fixe. O que precisas é da asa de um matulão, que te defenda as canelas. E o mais im-Portante: um tipo que te proteja.»
«E damos passeios?»
«Claro. Aquilo não é uma prisão. Mas não penses que te deixam ir para a borga. Passeiozinhos pelos pinhais, a apanhar florinhas, como os seminaristas... Que julgas tu?...»
Ora! O Maninho, só para moê-lo, estava a enegrecer as perspectivas.
Alvoreceu, enfim. João, nessa manhã, foi a primeira pessoa da casa a chamar pela criada. Vestira o fato à maruja, o de golas debruadas a branco. Ouvia vagamente a mãe a seguir-lhe os passos: «Vê lá como te portas, filho. E nunca esqueças os teus deveres de cristão. Sem fé, somos uns animaizinhos.»
- E o Martinho que não aparece!
- Ainda é cedo, sossega - dizia-lhe o pai, num sorriso enlevado e talvez comovido.
O Martinho, que precisava de ir à cidade, prometera acompanhá-los.
A mãe, insaciável, recomeçava a ladainha.
- Toma conta na roupa, Joãozito. Não a deixes roubar. Nunca se sabe quem se encontra nessas casas. Se precisares de alguma coisa, fala com o senhor director. E respeita-o sempre. Nesta mala vão os lençóis. São seis. Nesta mala, repara! Conta-os, não tenha esquecido algum. Olha as más companhias! Um mau amigo basta para te desencaminhar o resto da vida. Não te esqueças do talher: tem o teu número gravado. E escreve todas as semanas.
- Sim, mãe; sim, mãe.
- Vê lá se estudas. Sabes como ninguém os nossos sacrifícios.
- Sei, mãe. Lá vem o Martinho!
O Martinho, naquele momento, era a sua libertação.
Havia chegado a hora. O pai de João Queirós desceu, à pressa, as escadas para a loja. Voltou de lá con1 um relógio de pulso. Trazia-o dentro de um estojo. Os olhos humedeciam-se de uma ternura macia e risonha
João pegou no relógio, não acreditando que lho estavam a oferecer.
- É... para mim? É para mim, pai?!
O pai acenou com a cabeça, sorrindo sempre.
- É. Tem cuidado com ele: é um Longines. Beijou a mão do pai e foi à outra sala várias vezes,
sem finalidade, como se procurasse mais testemunhas para a sua caótica alegria.
A mãe com a última recomendação:
- A argola do guardanapo também tem o teu número. Não deixes que ta troquem.
- Não, mãe.
O Martinho berrava da porta:
- Já te despediste?
- Já. Desço num instante. Tenho um relógio, pá! Na rua, o Martinho, entre dentes, apurou:
- Que tal as algibeiras?... As despedidas renderam? João Queirós ruborizou-se. Tinham-lhe dado uma
miséria. Só agora reparava que iria sentir-se vexado, entre os colegas, com os cinco escudos que levava na carteira para as suas «extravagâncias». Não podia confessá-lo ao Martinho. Daí, iludiu a resposta:
- Repara só neste relógio!
- Ena!
- É para que saibas... E o Senhor Couceiro da farmácia deu-me um queijo. Levo uma data de coisas para comer.
Subiu para a camioneta. Bruscamente, o motor vibrou, fazendo estremecer a carroçaria, e o lenço da mãe de João Queirós ficou a acenar, cada vez com menos Vlgor, até que a curva o fez desaparecer.
Colégio de S. Luís. Três andares de janelas alinhadas, lúgubres, como um presídio. O automóvel parou em frente da escadaria. Tinham vindo num automóvel da paragem da camioneta até ali. Era bom que soubessem que seu pai era o mais conceituado ourives de Febres, presidente da Associação. Podia dar-se ao luxo de vir de automóvel.
Três andares de janelas alinhadas. Mas, ao lado do vasto recreio, duas balizas de futebol e um telhado de zinco para que, quando chovesse, os jogos não fossem interrompidos. Alguns rapazes jogavam à bola e, por um momento, cuscuvilharam a chegada do novo companheiro. Logo esqueceram o acontecimento. O jogo interessava-os muito mais.
O director veio recebê-los nas escadas.
- Por aqui, Senhor... Senhor Queirós. A carta de Vossa Excelência chegou há dois dias. Veio a tempo, porém. O seu filho já tem o lugar marcado. Muito bem. Parece um excelente rapaz.
O director era um homem alto e calvo. E de pele muito desmaiada, talvez enfermiça. João Queirós, antes de transpor a porta, sondou, uma vez mais, os rapazes que gritavam na disputa da bola.
- Estás a apreciar os teus futuros amigos?... Aqui, sabemos dividir o tempo: estuda-se, sim, mas também há lugar para diversões. - Sorrindo ambiguamente para o pai de João, acrescentou: - Já temos informações de que és cumpridor. Se assim continuares, mais facilmente deixaremos que te divirtas... Não é assim, Senhor Queirós?
O director, sempre solícito, por certo de uma solicitude que João pressentia um tanto exagerada e inquietante, mostrou-lhes as instalações do colégio. Dessa visita, uma dúvida foi crescendo em João Queirós. Não conseguiu ocultá-la.
- Pra que são os buracos nas portas? O director sorriu, complacente.
- Para vigiar os vossos trabalhos, meu filho.
Que significava aquilo? A resposta não o esclarecera. Amedrontara-o ainda mais. Bruscamente, sentiu-se como apanhado numa armadilha. Uma nebulosa ameaça escureceu-lhe todo o alvoroço. E quando o pai se despediu, desejou, pela primeira vez, reaver todo o mundo perdido nessa despedida.
A maioria dos rapazes ainda não tinha chegado ao colégio. Longos corredores, intermináveis camaratas, de vazios, pareciam-lhe imensos e desolados. Logo que pôde, escapuliu-se para o pátio. Os rapazes, porém, não se mostraram muito sociáveis. Um deles farejou-o por todos os lados, como um cachorro, e, nitidamente desencorajado com a inspecção, concedeu:
- Vamos experimentar-te a ponta-esquerda.
- Mas eu dou mais a guarda-redes...
- Guarda-redes? Ele é isso?... O Alfredo vai já fazer-te um exame.
Claro: previa-se logo que o tal Alfredo devia ser, dos quatro, aquele latagão sardento. E era mesmo. Um pontapé daquele bicho tinha de ser um caso muito sério. Mas João precisava de convencê-los, de se impor, acontecesse o que acontecesse. No meio das balizas, resfolegando de furiosa expectativa, esperou o primeiro tiro. Parecia um petardo, de facto. Defendeu por instinto. Só teve consciência da mão esfolada quando, de bola aninhada de encontro ao peito, se levantou do piso arenoso e duro. O fato à maruja estava numa lástima. Não importava: após dois mergulhos seguidos, os outros sentaram-se no muro, reflectindo. Então o primeiro que falara deu a sentença:
- Podes ficar como guarda-redes do nosso time. Depois veio o crepúsculo. Era uma hora triste.
Sempre se sentira infeliz ao entardecer. As aves da Gândara, a essa hora, tinham um voo solene e um cantar lúgubre.
Desejou de novo ir ao encontro do pai, ao encontro de tudo que lhe parecia, agora, infinitamente distante. Sentia-se desprotegido e solitário. Recordava uma vez e outra o sorriso do pai a entregar-lhe o relógio, o aceno do lenço da mãe, a praça lânguida da vila, os vizinhos, os amigos, as lagoas onde as rãs, daí a pouco, orquestrariam o silêncio afogueado do anoitecer.
Durante o jantar, na mesa comprida onde a escassa dezena de rapazes parecia um grupo a cumprir um castigo, o prefeito olhara-o reprovadoramente todas as vezes que levava a comida à boca. No fim da refeição, o mesmo prefeito impedira-lhe a curiosidade de subir ao andar de cima.
- É proibido, menino. Só deve circular por onde lhe seja indicado. - E quando João Queirós se preparava para alcançar os companheiros, reteve-o mais um instante: - Precisa de ter modos a mastigar. Não é decente fazer tanto barulho. Os cevados é que comem assim.
As faces de João Queirós tornaram-se escarlates como se o tivessem esbofeteado. Apetecia-lhe nunca mais aparecer junto das testemunhas que haviam assistido às suas grosserias. Mais tarde, na camarata, despiu-se de costas para os colegas e cobriu logo a cabeça com os lençóis. Foi mais uma noite de insónias. Recordava os rituais de sua casa, que dantes tanto lhe eram odiosos - as rezas ao deitar, as «boas noites, filhinho», as mãos que vinham depois aconchegar-lhe a roupa, a vela apagada de repente e a última e inútil recomendação para que não se destapasse durante a noite. Agora, naquele compartimento vasto, desabrigado, tudo isso lhe parecia tão importante, tudo isso lhe surgia, pela pri" meira vez, como a expressão de uma ternura necessária e desperdiçada.
Sacudiram-no pela manhã.
- Vamos, rapaz! Acabaram-se os maus hábitos.
Donde tinham vindo tais palavras? Quem era esse homem? Um anjo negro do sonho? Onde estava ele, João Queirós? Ah, João Queirós dormia. Dormia ainda, em Febres, e sonhava. O homem pertencia ao sonho. Daí a pouco, a mãe viria espreitá-lo. Viria dizer-lhe suavemente, gradualmente, que eram horas de se levantar. Que o Sr. Hernâni o esperava.
Os companheiros, quando o prefeito saiu, rodearam-lhe o leito, ajudando-o a tomar consciência da realidade.
- Não ligues, pá.
- Aos caloiros estas coisas chateiam.
- O imberbe estava à espera que lhe trouxessem o biberão...
Ainda em camisa de dormir, pondo-se de pé meio sonolento da noite tormentosa, a sua raiva e a sua amargura explodiram:
- Vocês pensam que eu sou algum maricas ?
- Bem dito, gaitas!
- Acautelem-se que o tipo julga que é mau!... Um deles recomendou-lhe sorrateiramente:
- Bufa-lhes nas ventas, pá. Podes contar comigo. Trazes bolamas
- Que é isso?
- Fala baixo. Bolama é qualquer comezaina que nos adoce a goela.
- Tenho aí uns bolitos.
- Então guarda, pá. Guarda prá gente os dois. Não te deixes levar por essa matulagem.
Quando os outros se afastavam, foi mais explícito:
- Queres ser compincha cá do meço? Aperta estes ossos.
João Queirós estendeu-lhe ansiosamente a mão. E nesse gesto confiante, além do mais, dava o primeiro Passo nas instruções do Maninho: «O que precisas é de um tipo que te proteja.» Aquele, embora não fosse dos mais espigados, tinha um aspecto sólido e teso. À falta de melhor, deveria aproveitá-lo.
- Ouve lá... O sujeito que te trouxe ao colégio é teu pai?
O outro não pudera deixar de reparar nas atenções que o director dispensara a seu pai! No entanto, o «sujeito» parecia-lhe infeliz, quase depreciativo.
- É. O sujeito é meu pai.
O recém-amigo de João Queirós, porém, não deu pela entoação ressentida ou sarcástica da resposta. E insistiu imediatamente:
- E o carro em que vocês vinham... É vosso?
- O carro... - ia dizer «claro que é», pois o presidente da Associação de Ourives de Febres tinha todo o direito a um automóvel, mas talvez a coisa viesse a descobrir-se mais tarde, talvez a pergunta fosse uma ratoeira... - O carro... não é meu. O meu... está desarranjado.
- E que marca tem o teu?
- És danado de curioso. - Que marca lhe havia de dizer? Qual a marca da velha geringonça do médico de Febres? E a do Sr. Armindo da Quinta Grande? - É um Essex.
- São bons, pá.
- Dizem que sim - rematou com enfado e desprendimento. E o estranho era ter-se sentido dono de um carro. Que era verdade possuir o tal Essex do Sr. Armindo da Quinta Grande.
OUTRAS HORAS
Mas o seu grande amigo no colégio foi o Espada à Cinta. Era um tipo aldeão. Botas cardadas, calças justas - um pobre diabo que não tinha consciência dos seus ridículos. Assobiava como um melro. Assobiava a propósito e a despropósito. A sua linguagem não parecia ser outra. Ao segundo dia de colégio, estupidamente insensível aos enxovalhos a que o submetiam, foi sequestrado na cave, por detrás de uns caixotes. Quando os companheiros, mais tarde, decidiram espreitar-lhe a raiva ou a amargura, o Espada à Cinta recebeu-os com o reportório completo da banda da sua terra, incluindo a marcha fúnebre. E o assobio, grave ou repenicadíssimo, conforme as circunstâncias, valia, de facto, toda uma banda.
Aquilo justificou uma consagração. Eis um tipo invulnerável à chacota, dos fixes, portanto. Nesse mesmo dia, baptizaram-no na pia do colégio, cabeça bem mergulhada na água ludra dos despejos, e deixaram-no de vez.
Mas essa resistência ao riso não lhe deu um amigo. Foi mais tarde que João Queirós reparou nos seus olhos brandos, na tristura saudosa e ferida do assobio. O Espada à Cinta era um exilado. Os seus olhos, o coração, a música do assobio, continuavam presos às serranias, aos campos, à vida ampla e livre da sua terra. Deixassem-no regressar. Ou ajudassem-no a esquecer com um pouco de ternura. João Queirós sentiu-se comovido; e fizeram-se amigos.
O Espada à Cinta foi apurando o vestuário, o cabelo, os modos. Nem sempre, porém, com sensatez, apesar de alguns conselhos de João Queirós. Quanto ao cabelo, começou por abrir um risco ao meio da selva crespa e ensebada, mas tanta água e cuspo teve de usar nessa domesticação que os companheiros consideraram o requinte suspeitoso. Meneando as nádegas, mordendo um dedinho, alguns deles saudaram a duvidosa metamorfose com: «Parece gaja!... Ai... filha!... que és uma lasca!»
No entanto, o Espada à Cinta mostrou-se rapidamente muito hábil na limpeza do calçado. Como prova de amizade e gratidão, quis tomar para si a tarefa de engraxar os sapatos de João Queirós. Ambos se orgulhavam de exibir o calçado mais reluzente do colégio.
Quando a mãe de João Queirós vinha visitá-lo, mostrava o seu apreço pelo afecto que unia os dois amigos. «Vês, tão humilde!» Dividiam as reservas entre si: o Espada à Cinta dispunha de chouriços e laranjas, coisas mais grosseiras e aldeãs, mas substanciais; João Queirós oferecia bolos muito amarelinhos do excesso de gemas e outros mimos requintados.
Contudo, em certos surtos de crise, João Queirós afastava-se do amigo. Uma vez por semana, à noite, todos escreviam à família. E quando João Queirós lia nos sobrescritos dos companheiros o «doutor», o «engenheiro» ou qualquer outro título que nem ele nem o Espada à Cinta poderiam repetir nas suas cartas, evidenciava-se-lhe mais uma vez a modéstia das suas origens. Ali, num colégio burguês, quase todos tinham pais doutores ou o que quer que fosse dessa escala social, e exibiam-no ostensivamente, cruelmente. Só ele, o Espada à Cinta e poucos mais provinham de uma origem campesina, famílias sem título, famílias do povo. E sentia-se qualquer coisa como um bastardo. E deduzia que a sua amizade ao Espada à Cinta era um selo de casta desprezível.
Depois viera o Nequitas, a «velha».
Depois o Cristiano, que o andar dos dias transformara num amigo.
No liceu chegava-se mais ao Pedro e ao outro Pedro, já nessa altura classificado como Pedro II ou Pedrinho, para evitar confusões. Pedrinho - porque era louro, esguio, enxuto, ares de filho de gente brasonada. Só ares. Tinha uma língua suja, corrosiva, e gostos de plebeu. Temiam-no. Mas, no fundo, uma jóia. João Queirós, embora os venenos dele o divertissem, antepunha-lhe sempre umas reservas.
Certo dia, João Queirós reparou que o seu aborrecimento era solidão. O Espada à Cinta perdera-se não se sabia bem por onde. Diziam que estava no Porto. O Nequitas, depois de teimar uns anos com os livros, fora levado para França. Recordar-se-ia sempre do seu pescoço de girafa a vergar-se sobre ele para lhe dizer numa voz húmida e sufocada: «Até qualquer dia.» Tinha-se a sensação de que o Nequitas partia para um degredo. Que não mais seria visto. Que nunca mais regressaria. Bom coração, o Nequitas. O Cristiano só saía de noite, como os morcegos. João sentia-se só. Queixou-se aos Pedros.
«Porque não vens, com a gente, até à Associação Académica? Há lá tudo para um tipo se distrair», haviam-lhe dito.
Nessa mesma tarde, João Queirós foi curtir o rescaldo de uma aula de Latim na companhia dos Pedros.
Sempre considerara a Associação Académica um antro interdito aos novatos como ele; um lugar onde os mais velhos, pomposos e ciumentos das suas prerrogativas, não admitiam misturas. No entanto, ninguém o tomara como um intruso. E, com os Pedros, bebeu café. E comeu bolos. E até jogou uma partida de damas.
Tinha sido um dia significativo. Afinal era um homem. Naquelas mesas de mármore de um café, de um café a valer, com criados fardados, bilhares, gente graúda, a sua presença não destoara. Ninguém o mandava embora. Já podia dizer para um criado: «Traga isto, traga aquilo», e logo lhe obedeciam.
Essa revelação devia-a aos Pedros. Seria amigo deles o resto da vida.
O Pedrinho pagou a despesa, num gesto fatigado, quase langoroso. E ofereceu cigarros. João Queirós, no dia seguinte, quis ser ele o anfitrião. E no outro dia também. O Pedro não protestou, mas o Pedro II («agora que, daqui em diante, passaremos as tardes juntos») estabeleceu uma regra de convívio: a cada um, a sua despesa. Nada de galifões. «Agora que, daqui em diante...» Oh, como essas palavras emocionavam João Queirós! Tinha amigos! Não era um abandonado por entre essa horda bravia e indiferente de colegas. Tinha alguém com quem desabafar, com quem se dividir.
Uma vez o Pedro foi chamá-lo ao quarto. João dormia ainda. Despertado à força, quando o outro lhe quis puxar os lençóis, reagiu com violência, quase desespero. O Pedro tinha já arranhões na cara e ria, ria, sem perceber.
- Anda, sai daí! Hás-de sair daí!
Mas João Queirós agarrava-se aos lençóis furiosamente. Por fim, teve de ceder. A cama estava cheia de cagadelas de pulgas.
A culpa não era dele, não lhe mudavam os lençóis .- mas quando Pedro, espantado, compreendendo por fim, o fitou simultaneamente com indulgência e reprovação, baixou o rosto de vergonha. Sentia-se humilhado.
Pedro, com gestos lentos, estendeu novamente os lençóis. Via-se que procurava um comentário brejeiro.
- Pulguento...
João tinha ainda os olhos brilhantes, quase chorava.
Desde essa data, o «pulguento» permaneceu como um fosso entre os dois. João olhava agora o Pedro como alguém que lhe fosse superior, alguém que conhecia um terrível segredo da sua vida: ter pulgas na cama.
O Pedro II abusava, às vezes, de frases aceradas, chegando a expulsá-lo do grupo, para depois se reconciliar com gestos e palavras retumbantes. João Queirós, apesar da interferência serena e apaziguadora do outro Pedro, ia para casa esmoer as insinuações, sofria, perdia noites a consumir-se nessas tempestades emocionais. E então o amigo certo passava a ser o Rogério ou o Cristiano. O Cristiano, sim, era um puro. Truculento, mas sincero, constante.
«Aqueles gajos não me convencem! Qualquer dia, só por tua causa, vou-lhes à cara, ai vou!»
João Queirós protestava. Que ele estivesse ressentido com os Pedros, admitia-se; mas feria-o vê-los achincalhados pelo Cristiano. E regressava ao grupo. Recebiam-no sem comentários.
Amigos.
SEGUNDA MANHÃ
Florinda veio à porta. A mãe passou com um embrulho de roupa, lá por detrás, no buraco escuro que é a sala que espreita para a rua: sala de mesa, sala de costura, cozinha. Uma sala para tudo. Até para oratório: Santo António, prisioneiro numa baça redoma de vidro, muito rosado, muito menino, aponta às pessoas da casa um céu imaginário que parece estar lá em cima, na cúpula da redoma de vidro. E as pessoas da casa acreditam. A mãe de Florinda até comprou um solitário e dois cravos postiços para homenagear o santo. Para lhe provar que acredita.
É uma sala para tudo. Uma sala que tem de valer por muitas, porque mora lá gente pobre. Talvez Santo António, um dia, faça o milagre.
Também João Queirós, apesar de o pai ser o maior ourives de Febres (é o pai agora a repeti-lo, mas não os outros...), tem um quarto pobre. A cama, a pequena secretária de pinho e a mesinha-de-cabeceira com uma jarra rachada em dois lados. A jarra veio de Febres. Se não fosse o respeito pela mãe de João Queirós, há muito que o Pedrinho tinha feito em cacos «aquela bodega de sacristia». Mas, se poupa a jarra, vai riscando todos os dias, sadicamente, à navalha, a secretária onde ele e João Queirós se preparam para os exames. João cansou-se de protestar. Não deixa até de ser honroso que a sua secretária seja a mais abandalhada da pensão.
João Queirós, porém, terá um dia casa sua, com janelas largas, cadeiras confortáveis. Terá muitas coisas que alguém possa desejar; não é sem motivo que a criada da pensão e os moços de fretes da gare lhe chamam, desde há muito, Sr. Doutor. Os moços de fretes e as criadas, e toda essa fauna miserável que os servem, sabem que as boas oportunidades da vida lhes estão reservadas.
Será um dia doutor, pois, um dos grandes de Febres ou de qualquer outra terra. O irmão de Florinda já não pode ter essa certeza. Ou, nem sequer, uma esperança. O irmão de Florinda habitará outra casa, mais tarde, mas semelhante à dos pais: um buraco negro. Uma toca vil. Os seus filhos serão os mesmos ganapos que hoje correm pelas ladeiras do bairro universitário: seminus, barrigas enfoladas, como balões assentes em dois vimes. Os de João Queirós terão fatos limpos, jardins, um corpo roliço e saudável.
Talvez Santo António, um dia, faça o milagre. Triste, a Florinda. Continua à porta. Espera certamente a peixeira ou, então, descansa os olhos do bordado. A mãe não tardará a chamá-la: «Toma tento nas horas, rapariga! O teu pai, se aí aparece e não tem o almoço pronto...» Florinda já não ouve a ladainha. O pai está gasto, mudam-lhe todos os anos o lugar na fábrica, até o despedirem como um trapo usado, deita-se a maioria das vezes logo que chega a casa. Aos domingos toma-lhe um pouco da pinga e então atira-se para a cama mesmo vestido. Tudo isso acabará de uma hora para a outra. E o pai sabe que é assim e cansou-se de se amargurar. Espera a morte com naturalidade, como espera a bebedeira dos domingos. A gente da rua acompanhará o caixão, porque ele gozou de boa fama e a mulher é das que menos escandalizam a vizinhança.
Nem faltará, quem sabe, a governanta do capitão. É uma boa senhora, muito capaz desse gesto.
Mas Florinda é uma adolescente: não pode resignar-se como o pai. Está na madrugada da sua vida: tudo o que avista para a frente é o imprevisto, nenhum dos dias repetirá o anterior. Agora, à porta da casa, olha não se sabe bem para onde, talvez para os montes pardacentos, ou para o que se esconde mais longe ainda. Depois o seu olhar prende-se à janela de João Queirós, que se levantou cedo e abotoa um dos botões do pijama. Sabe-se lá o que lhe vai no pensamento ao fixar a janela do estudante! «Coisas malucas», diria a mãe de Florinda, se pudesse naquele momento surpreender-lhe a contemplação.
Pensará nele, a Florinda? A Celeste, essa, decerto não. Ou, se pensa, é para se divertir. Uma estúpida. Já a ouviram tocar piano? Atira os dedos de encontro às teclas, à bruta; a música, para ela, é uma espécie de briga. A Celeste não será feia, mas a beleza é uma flor que murcha. Que ficará de Celeste, depois de a sua beleza murchar? Ficará o piano, a estupidez.
Florinda esqueceu o bordado e o almoço, pela certa. Metade das suas horas são passadas à porta ou à janela - uma janela para o mundo, aberta à esperança. Os seus olhos vão das serras distantes ao rosto de João Queirós, de João Queirós às serras cinzentas e distantes. «Gostará ela de mim?» E porque não? Nem todas são como Celeste. Mas que lhe pode interessar Florinda, a ele, um futuro doutor? Florinda é uma pobre ra-pariga, crescida num buraco, um débil mas ardente arbusto sufocado num buraco, ávido de abrir uma fresta que o deixe crescer. E depois? Ela é apenas uma rapariga que tem um sonho. A Celeste, sim, é educada, bonita, uma burguesa, como ele. Merece um doutor. Toca mal piano, martelando as teclas, não entende o mistério da música, mas se alguém tiver coragem de aconselhá-la a pô-lo de lado, não se dirá mais que Celeste é impenetrável à subtil fascinação da arte. Ou talvez essa fascinação ainda se lhe revele - e um dia chegue a tocar maravilhosamente. E, então, o lar de João Queirós será como nenhum outro. Ele sentado num sofá, desfolhando um livro, a ouvir Beethoven! Não: antes Chopin, que é mais repousante. Florinda não sabe tocar, nem mesmo desajeitadamente. Para ela, um piano é aquele móvel esquisito e pesadão que está na loja de antiguidades do largo da Sé Velha. Há lá pianos, caixas de música e outras coisas estranhas e bafientas que dir-se-ia reunidas ali para envelhecerem em silêncio. É uma loja onde ninguém entra. A Celeste, bem vistas as coisas, sabe um pouco de tudo, conhece um pouco de tudo, bem ou mal, não importa, o tempo lhe afinará os gostos.
Ah, mas Celeste não lhe pertence. Há um outro. João Queirós não ouvirá Beethoven, nem Chopin, através dos seus dedos empedernidos. Não lhe escutará o seu habitual e adocicado «Olá, João!». Para que evocar o seu nome, o seu piano, o seu encanto? É difícil esquecer. E difícil calar a revolta pela injustiça do seu desprezo.
Florinda continua à porta. Nem se lembra do almoço. Os seus olhos tristes sonham. Sonham desde a véspera, desde sempre. João desabotoou o botão do pijama, abotoou-o de novo, repetirá o gesto muitas vezes. Por fim, enrola um cigarro. Acende-o. O fumo do cigarro hesita uns instantes e depois dilui-se na atmosfera da rua. As serras de longe também parecem, agora, uma lenta e langorosa cortina de fumo sobre os planaltos verdes do rio. E é lá que os olhares de Florinda e João se vão encontrar. As distâncias tudo permitem à à imaginação. Nelas mora a esperança e o sonho, nelas se podem exprimir.
O Nequitas não era expansivo nessas coisas. Nos seus silêncios e pausas e devaneios havia um mundo secreto. Era nas noites mal dormidas que João Queirós lhe apercebia uma inquietação ardente e dolorosa. Durante o dia, não: o seu mutismo engelhado era impenetrável. Não falava de amor, não falava de anseios. Talvez lhe parecessem coisas proibidas. Ou sacrílegas.
De cada vez que os estudos lhe corriam mal e regressava a casa da avó como quem, de tolhido e encarcerado, perdeu o jeito à agitação e à alegria, a sua testa parecia mais pregueada e extinta a chama breve dos olhos murchos.
Não podia estender a mão para o que lhe tinham negado. Não podia confessar coisas que não lhe estavam destinadas.
No colégio havia um anel mágico. Bastava enunciar um desejo. O anel transfigurava-se em tudo o que lhe exigiam. Pratos de bolos recheados de morangos vermelhinhos, automóveis desenfreados, bolas de futebol, ilhas selvagens ou mulheres de beleza nunca vista. A ideia fora de João Queirós e a sua exploração comercial tivera no Espada à Cinta um colaborador convicto.
Anel mágico. Nunca se negara a satisfazer um desejo. Certo dia, num passeio à Baixa, ao verem a montra de uma pastelaria atulhada de coisas boas e inacessíveis, a enfiarem-se pelos olhos dentro, João Queirós propusera:
- Ó pá! E se nós tivéssemos um anel maravilhoso que bastasse a gente dizer «quero isto» para que... Entendes-me?
O Espada à Cinta investigou os seus dedos rústicos. Investigou depois os dedos de João Queirós. Nenhum deles, por desgraça, possuía um anel. Mas, de tanto o imaginarem, o anel apareceu. João Queirós teimava que o sentia na sua mão esquerda. E o outro concordou.
Daí a nada, comeram os pastéis, viajaram de auto móvel, deram a volta ao mundo nos meios de transporte mais exóticos. Que países fantásticos visitaram! E tu do isso antes do odiado estudo da noite. O tempo, para o anel, era miraculosamente relativo.
Nos dias seguintes, sempre que um dissabor ou uma ambição os atormentava, João Queirós recorria ao sortilégio: «Anel das sete partidas! Ajuda-nos!» E o Espada à Cinta, de expressão deslumbrada, jurava a pé juntos que, à sua volta, tudo se transformava. Os companheiros acabaram por desconfiar da magia. E, confessada a fórmula, todos eles, de bom grado, aceitaram pagar sua parcela no mundo prodigioso que os dois tinham inventado.
De um dia para o outro, porém, o anel esgotou as suas virtudes. Todos deixaram de vê-lo no dedo magro de João Queirós.
- ...Tirar o curso de Engenharia. Depois meter-me em qualquer parte com a minha miúda.
João Queirós interpunha:
- E se nós montássemos uma fábrica, por exemplo de produtos de cortiça - o meu pai diz que é uma indústria formidável! -, dirigida por ti? Eu seria o chefe dos escritórios. Assim, nenhum de nós se separava.
(João Queirós inquietava-se cada vez mais que mulheres viessem roubar-lhe os amigos.)
Pedro sorria com indulgência. Nada de sonhos patetas. Um tipo tinha de assentar uma raiz sólida na vida. Assentar bem os pés. Ter dinheiro e gozar, possuir coisas. No entanto, «a sua miúda» era por vezes o fulcro de uns inesperados desmandos da imaginação. Não conseguia ocultá-los nem detê-los. E fantasiava então uma casita num monte, um refúgio para ele e «a sua miúda», ou viagens arriscadas por esse mundo fora, mares e continentes quase ignorados - sempre com ela na sua companhia. João Queirós escutava, embevecido, ansioso por que o amigo, furioso de ter cedido a «criancices», não interrompesse as fabulosas e românticas descrições.
«Tirar o curso de Engenharia.» Mas isso tardava, visto que o Pedro era insistentemente apoquentado por dores de cabeça impiedosas. Mal a sua cabecita de arrebela se curvava para um livro, daí a minutos tinha de se render.
- Não posso. Que ganho eu em estar a sacrificar-me, se não aproveito nada? Parece que me estalam os miolos! Vou à Baixa tomar um café, talvez melhore.
E melhorava. Não se sabia bem ao certo se nele as dores de cabeça, de tão congeminadas, terminavam por ser autênticas.
- Já começou a doer? - perguntava o Pedrinho, antes que o outro se queixasse. E a candura do seu rosto imberbe tornava-se pérfida. Mas o Pedro não se ralava. Era bom ir deixando correr os anos sem grandes canseiras e aflições.
A miúda, enfim, que esperasse.
A mesa de estudo de João Queirós era um emaranhado de linhas, rasgões, buracos. Dir-se-ia uma carta geográfica em relevo. Abismos, rios, estradas. Tudo o que o canivete do Pedrinho caprichava em talhar. Às vezes João Queirós comparava esse canivete afiado aos risos do seu dono. Silenciosos e acerados. Risos sem cor. E desistira, havia muito, de impedir a devastação, que aliás, uma vez por outra, lhe permitia interromper a monotonia do estudo para decifrar, a seu modo, o que o canivete se esforçava por exprimir. Nesses momentos, dizia-se cansado, de respiração breve, quase ofegante - para justificar um quarto de hora de lerias. Suspendia a leitura bruscamente: «Os meus pulmões. Ficou-me esta falta de ar desde uma bronquite aos seis anos. Estou farto de ler.»
- Bronquite?... - inquiria o Pedrinho num tom velhaco. E embora lhe fosse indiferente ir mais longe no estudo, ao ver João Queirós aliciá-lo para uma fuga ao mundo das suas invenções, logo aproveitava o ensejo para o ferroar: - Bonita vida! Achas que o paleio te servirá no exame?
João Queirós fazia um ar de lástima, que não chegava a ter voz, pois o Pedrinho depressa se associava ao devaneio:
- Eh, pá! que coisas bestiais poderíamos fazer! Se a gente construísse, por exemplo, uma jangada!... Ou matasse um professor e fugisse para a selva!
Doido, o Cristiano. Cada dia, uma nova extravagância. Nos últimos tempos, largara a vadiagem nocturna, por baiucas e bares, e não perdia agora uma sessão de cinema. E garantia que, muito em breve, partiria para Hollywood. Pintava o bigode a tinta preta, ensaiava atitudes. Ao espelho, era sucessivamente Fu-Manchu, ou Lon Chaney, ou Clarke Gable. Clarke Gable, sobretudo.
- Vão-se lixar! Digam-me com toda a franqueza se me pareço com os gajos, senão parto-vos as ventas!
E partia mesmo. Embora em jeito de comédia, João Queirós, nessas desavenças, apanhou alguns bofetões.
Doido, o Cristiano. Não podia deixar de ser. Mas de quando em quando, o seu rosto ossudo, onde os olhos claros pareciam encastoados à força no fosso das órbitas, tinha uma melancolia funesta.
- Hei-de morrer cedo. Vocês verão. Só estas tonturas todas as manhãs...
- É sífilis - diagnosticava o Pedrinho.
Nesses dias, Cristiano perdia todo aquele jeito de agreste rebelião. E tornava-se tão vulnerável como os outros a essa saborosa tristeza feita de penumbras, in-quietudes, de frases que não chegavam a ser ditas.
João Queirós, ao vê-lo receptivo ao contágio, começava então:
- Ó Cristiano... E se nós, um dia...
Cristiano fixava-o sem o ver. E talvez sem o ouvir.
Nequitas está em França. Há quem diga que o pai abriu uma oficina de bicicletas e o pôs lá como operário. O Nequitas é um rapazola, mas quem lhe vir as rugas de velho, a face resignada, dirá:
- Anda pelos trinta.
Não custa a acreditar. O pescoço do Nequitas, entretanto, deve ter crescido ainda mais. As rugas devem ter alastrado. Talvez procure afundar na memória os dias de Coimbra, os companheiros, a amizade. A França é longe. Mais longe são os anos aonde não se pode regressar.
O Espada à Cinta continua internado no tal colégio do Porto. Houve quem o tivesse visto por lá. Agora, porém, o Espada à Cinta já usa sapatos e vestuário de citadino. Esqueceu o repertório da banda da sua terra. Mas talvez se lembre ainda do anel mágico. Quem sabe se ele o lembrará a vida inteira? E de cada vez que repetir a fórmula milagrosa, João Queirós será recordado.
O canivete do Pedrinho talvez seja, afinal, outra versão do anel maravilhoso. Anel ou canivete, porém, só eles lhes compreenderão as virtudes, o poder, a linguagem. Os outros, os grandes, os adultos (sejam eles os pais, ou os mestres ou a gente que vive noutro mundo), não podem entender o mistério das noites perdidas, dos estudos que não rendem, das jangadas, do amor. Das aventuras planeadas e vividas no quarto de uma pensão. Dos amigos que se perdem e dos que vêm substituí-los. Das insatisfações. Que sabem disso os adultos? Algum deles reteve, fosse o que fosse, da adolescência? Rodar da vida, rodar da vida!
E era tão bom segurar o tempo, as suas personagens e os acontecimentos, e simultaneamente avançar no futuro e nas perspectivas que lhe dão claridade! Que é feito dos que ficam pelo caminho?
Os Pedros, Rogério, Cristiano, João Queirós, porém, continuam em cena. Ainda se encontram, juntos, na boca da cena. Será com eles que o romance terá de prosseguir.
DUAS HORAS DA TARDE
Café. Vozearia, confusão, fumo. Café de comerciantes que fecham negócios entre bojudas canecas de cerveja; de estudantes que debatem subtis problemas de futebol ou de ciência ou de amor, entre chavenazinhas de qualquer mistela barata ou copos de água comum; de literatos nauseados, graves e guedelhudos; de grupos que mergulham as horas numa penumbra densa, tépida e agónica, enquanto lá fora há o sol e a vida. Café que as mães dos rapazes, vindas de um tempo em que toda a casa pública era um covil de perdição, vêem com apreensiva reserva.
O Rogério lá estava na mesa do canto, lambuzando devagar o cigarro, soltando depois fumaças longas e grossas, na pista de uma frase que faltava na carta. O Pedrinho pesquisava por cima do ombro do amigo o obstáculo que travara a fluidez da redacção e, se não fosse para não denunciar a sua bisbilhotice, já teria rido daquela verborreia lírica começada com um «minha adorada mulherzinha». Mulherzinha! Quem lhe desse com um trapo quente! O Flávio, esse, devorava pela segunda vez um jornal desportivo e estava freneticamente alheio ao que o rodeava, incluindo a chávena de café.
João Queirós chegou e sentou-se no lugar habitual. Não disse uma palavra. Os outros tão-pouco o saudaram.
Era como se ele já ali estivesse desde a véspera ou desde o primeiro dia em que tinham escolhido aquele café para palco da celebrada tertúlia. A sua cadeira estivera vazia, até àquela hora, mas já ali se lhe sentia a presença.
Rogério apoiou um dos pés na cadeira de João Queirós, embora, previamente, tivesse repuxado a calça. (Os vincos das suas calças entaladas todas as noites entre os colchões, eram sempre impecáveis, salvo quando o excesso de zelo os desdobrava em vincos paralelos.)
O criado veio saber dos desejos de João Queirós. «O costume, senhor doutor?» Um estribilho familiar; mas, ainda que vulgarizado, sempre saboroso de ouvir. Ele era, enfim, uma pessoa que os criados distinguiam. A mesma mesa todos os dias. Um cliente.
Respondeu com afectuosa displicência:
- Viva, Luís. Sim, um café. - Mas quando o criado ia a voltar costas, reforçou: - E uma aguardente!
Todos ouviram. E o criado, sabendo-o abstémio teve um erguer de sobrancelhas reprovativo.
- Boémio, hem? - casquinou o Pedrinho.
João não retorquiu. Não se sentia disposto a gracejos, a lerias. Pôs-se a vagabundear os olhos sofredores por aqui e por ali, ausente e enjoado.
O Rogério deu a carta por finda. Respirou mais fundo, como liberto de um pesado esforço e, ainda de expressão abúlica, reacendeu o cigarro apagado. Enquanto fechava o sobrescrito, regressou, enfim, à realidade.
- Então? - inquiriu, como quem acaba de chegar de uma viagem.
- Nada - cortou João Queirós, percebendo a pergunta intencional.
- Já te curaste da mazela? João Queirós negou, abatido.
- Continuas a representar... - interferiu o Pedrinho.
João mediu-o de alto a baixo. Sentia-se ofendido. E escolheu um insulto que estivesse à altura da ofensa.
- Imbecil!
A escolha tinha sido certeira. O outro, danado, afiou o olhar, mas o seu nervosismo, de tão excessivo, sufocou-o. João Queirós esperava uma reacção explosiva, e esperava-a encarando o Pedrinho com destemor. Depois, prolongado o silêncio, levantou-se com teatralidade, levou as mãos aos bolsos e dirigiu-se para a porta de queixo erguido.
O Rogério, por seu lado, não deu a coisa por finda e acentuou o castigo ao Pedrinho:
- Às vezes fazes-te parvo!
Só então o Flávio emergiu do jornal. Ao ouvir a última frase, indagou, esgazeado:
- Que aconteceu?
Por vezes, quando a intimidade das aulas, dos estudos e de tudo o mais se sobrepunha ao choque dos temperamentos, João Queirós sentia uma irresistível necessidade de que as suas relações com o Pedrinho fossem mais afectuosas e espontâneas. Que entre eles houvesse essa qualquer coisa que, por exemplo, o ligava, sem prevenções, ao Cristiano e ao Rogério. E então, enquanto o outro azedava as horas de estudo com uma ironia viciosa e despropositada, meditava num discurso que, definitivamente, lhe desarmasse a mordacidade.
«Ouve lá, Pedrinho: teríamos coragem de nos aturarmos, poderíamos ser tão inseparáveis como somos, se não fôssemos amigos? Para que brigamos, então? Há lá coisa melhor do que a amizade! Temos o dever de a defender de nós próprios. Eu sei perfeitamente que os teus modos truculentos ou desdenhosos são produto da tua educação do colégio, onde, provavelmente, foste uma espécie de soba. Isso há-de custar a passar, mas se fizeres um esforço, se reconheceres as tuas prosápias e os teus complexos... Não consentes que te belisquem e, no entanto, como gostas de ferir os outros! Não poupas ninguém e muito menos os amigos. E quando digo amigos, penso logo em mim. Porque eu sou teu amigo, Pedrinho, e não poderia deixar de sê-lo. Sinto-me bem em saber que tenho amigos e que tu és um deles. Mas gostaria de que a nossa amizade não tivesse sombras. Que dizes? Vamos selar, com um abraço, uma vida nova?»
Talvez desse resultado dizer tudo isso, talvez conseguisse derreter-lhe aquele azedume duro e perverso. E com que emoção lho diria! Mas não. Os seus lábios cerravam-se, incrédulos e renitentes: corria os olhos pela face efeminada do companheiro, pelos seus cabelos sedosos e louros, pela testa branca, por tudo o que nele havia de delicado e suave, mas o conjunto, sabe-se lá porquê, desmentia essa fraude: era agreste e maldoso. Os dedos do Pedrinho, enquanto João Queirós se esforçava por uma tentativa de reconciliação, procuravam, com sadismo, mais um pretexto de disputa: ou empurravam o livro para onde João Queirós tivesse dificuldade em ler, ou faziam arrastar a mesa, ou percutiam, irritantemente, no cinzeiro. E a todo o momento Pedrinho forçava o companheiro a repetir frases inúteis da sebenta.
- Deixa a régua, Pedro. Está quietinho com a perna, por favor!
O outro fechava os olhos e, numa voz de mando, intimava:
- Continua lá com isso. Não me chateies.
Sim. No Pedro II havia apenas uma preocupação: arranhar os nervos dos amigos. O seu gozo era esse. Não merecia que lhe estendessem a mão num gesto límpido e nobre. Amigo, o Pedrinho? Não lhe cabia esse nome.
João Queirós, então, sentia uma raiva quente dentro de si. Se o Pedrinho queria briga, que a tivesse.
- Um dia apareces borrado de tanta cagança! Ninguém poderá chegar com o nariz ao pé de ti.
Os olhos azuis do outro, de uma brandura postiça, descoloriam-se de fúria. E sem poder coibir-se, lançava-se contra o gume do desafio:
- Tu!... - e ficava uns segundos engasgado. - Tu... com essa mania da piada reles... Mas tem cautela!
João Queirós, bruscamente, cedia. Ficava triste, murcho. Transmitia-lhe uma sensação de insegurança, de infelicidade, o ser incapaz de contagiar o outro com a sua sede de ternura.
QUATRO HORAS DA TARDE
Em certas temporadas, era um hábito dirigir-se para ali. E também em hábito se tornara o desvio pelas ruas menos suspeitas, antes de, já sem possibilidades de mais disfarces, desembocar no bairro das prostitutas. Isso acontecia, sobretudo, nos dias em que se tornava necessário experimentar fosse o que fosse de proibitivo e arriscado ou mergulhar os desesperos numa turva irreflexão.
No entanto, por muito repetidos que fossem esses desvios e esses dias, aquilo tinha sempre o gosto, embora ácido, de uma aventura.
As mesmas mulheres às portas. Os mesmos rostos burlescos de uma tragédia sórdida. As mesmas mulheres - «Ó doutor! Ó doutorzinho!» -, as mesmas carroças de varais erguidos para o céu encarniçado do largo, enquanto as bestas escoicinhavam sonolentas e encaloradas e os donos bebiam nos antros que eram tabernas; as mesmas crianças, as velhas, a música pobre que carpia desgraças.
Mas era uma sordidez assim que ele nesse dia procurava. Já que fora escarnecido, vinha ali para se misturar num ambiente reles. Humilhando-se, sujando-se, vingava-se; de Celeste, sobretudo, embora os amigos também fossem responsáveis pela afronta. Nenhuma mulher lhe dava atenção? Os amigos troçavam-no? Então, se assim era, iria para junto dos que nada têm a conceder, os humilhados, os sujos. Bastaria um gesto para que uma daquelas mulheres o quisesse, para que os pobres boémios das tascas imundas o elegessem companheiro.
No entanto, o seu desafio ainda não era corajoso. Bem o sabia. Pactuara com os outros, mascarando os propósitos, escolhendo o caminho mais longo que poderia trazê-lo ali. E agora, no centro do largo, fingia procurar uma rua, um destino, como se as mulheres não tivessem já percebido que ele viera alia apenas para escolher uma delas. Escolher! Como se isso não exigisse sempre um assomo de heroísmo!
De súbito, dirigiu-se a uma das casas. Subiu as escadas. Encostou-se à porta do átrio. A sala estava cheia: dois rapazes, estendidos num sofá, disputavam uma das raparigas; outro, certamente familiar no meio, exibia certas liberdades com a governante. E o rádio. E o fumo. O odor lascivo, quente, abjecto.
Tentou passar despercebido. Um sofá ficou livre e deslizou por ali dentro, sem fazer ruído. Procurava agora imitar os gestos dos outros, a expressão tranquila dos outros, o perfeito à-vontade de quem se sente num meio conhecido. Ah, os outros! Como eram invejavel-mente atrevidos e soezes! Alguns deles levantaram-se ao apelo de uma blandiciosa música de dança. Lá iam eles e as mulheres, muito juntos, num momento identificados por um estranho langor. Chegaria alguma vez a conseguir essa naturalidade? O cotovelo assente no braço do sofá, a perna direita forçadamente estendida, bem lho desmentiam. Tudo nele era rebuscado e caricato. E não estariam os outros, eles e elas, a apreciá-lo desde que entrara? Mudou de posição, cruzou as pernas. Mas lá estava o espelho a denunciá-lo. A expressão imberbe, apreensiva, aparvalhada. As palmas das mãos encharcadas de nervosismo.
Era um rapazinho tímido e ridículo. Bastaria que uma das raparigas lhe dissesse em voz alta um gracejo, uma palavra do que havia pensado dele desde que transpusera a porta, para que todos aqueles rufiões o troçassem. Acabariam, quem sabe, por despi-lo, por injuriá-lo, como o Rogério contara que um dia tinham feito «a um fedelho». Devia escapar-se quanto antes! A Celeste, se o soubesse, que gozo! E o Pedrinho? «Mas não, é imprudente sair. Talvez todos esperem a minha retirada para, no último momento, me enxovalharem com uma grosseria. E se eu lhes provasse que sou homem como eles, se eu fizesse imediatamente um sinal a uma destas desavergonhadas?» Um sinal. «Mas como, mas qual - de modo que só ela o perceba?» O espelho não perdia um deslize do seu rosto, dos seus gestos. Aceitou a provocação, porém, ensaiando uma máscara viril, dura e ostensiva. O espelho aprovava.
No fim de contas, talvez ninguém se tivesse preocupado com a sua presença. Nem elas - habituadas como estavam a que os rapazelhos viessem ali só para satisfazer uma curiosidade, uma atracção feita de mistérios e inibições, ou simplesmente para se atormentarem.
Os dois rapazes, no sofá, possuíam com os olhos e as mãos a carne da rapariga. Era como se estivessem sós na sala. A indiferença dos outros isolava-os. Uma mulher afastou-se da janela, olhou João Queirós e sentou-se a seu lado. De mãos cruzadas, quase desdenhosa, não esboçou uma aproximação. Mas depois, fitando-o com mais demora, sorriu. Era bonita e discreta. E se ela... A Celeste, se o visse agora, morder-se-ia de raiva. O Pedrinho, esse, ficaria com o risinho imobilizado de pasmo. Era um homem; e um homem que uma rapariga bonita e discreta (que expressão de pureza!) preferira a todos aqueles vivaços.
A rapariga bonita perguntou-lhe as horas. Tinha uma voz sedosa e fatigada.
- Quatro horas.
- Obrigada. Que relógio tão engraçado! Deixa-me vê-lo?
Ele estendeu pressurosamente o braço. Sim, aquele era um relógio de qualidade. Um Longines. Sentiu-se orgulhoso de ter consigo qualquer coisa que impressionasse a rapariga. E isso bastou para lhe amortecer o embaraço.
- Também você é engraçada.
A rapariga voltou a sorrir, após franzir as sobrancelhas numa sombra de espanto. E depois ainda, levou as mãos à face de João Queirós e acariciou-a.
Ele sondou rápida e ansiosamente a reacção dos circunstantes. E, de súbito, sentiu-se plenamente calmo e senhor de si, apertando, com malícia, o braço da rapariga. Um rosto bonito, discreto. E agora encontrava-lhe também alguma coisa de infantil. Fizera mal em apertar-lhe o braço. Tinha sido uma violência reles. Ela era uma pobre rapariga, ávida, como ele, de pura ternura, de carinho que não fosse mercenário ou efémero. Fixou os olhos sofredores da rapariga. Eram os olhos da Flo-rinda.
- Custou caro o teu relógio.
Outra vez o relógio. Ela avaliava-lhe as posses, o preço que ele pagaria pelas carícias, através do Longines escolhido na farta colecção de seu pai. Como se deixara lograr? O seu pai, é verdade... O pai, a mãe. Quem, em Febres, o poderia, supor ali, num lugar de perdição? Ah, se a mãe lhe adivinhasse os passos!... Correria, aflita e revoltada, à imagem da Nossa Senhora da Boa Memória, a pedir-lhe contas de não lhe ter resguardado o filho. Era um nojento!
- O relógio é uma recordação.
- Boa?
- Deu-mo o meu pai, quando vim estudar.
A rapariga pousou-lhe a mão no pulso. Parecia querer resguardar a «boa recordação» do asco daquele ambiente. João Queirós gostaria de a beijar naquele momento. Um beijo puro. Um beijo que não era bem para ela, mas para a tal mulher inidentificável do sonho. Para quê, porém? Ninguém o compreenderia, nem a rapariga. Nem ela. «Precisa de vender o seu corpo. Está a explorar a minha pieguice. Vai falar-me do relógio até que me decida. Ainda mesmo que lhe seja agradável falar-me de "recordações boas", o seu ofício é seduzir-me. Há a patroa a exigir-lhe dinheiro e há talvez a família a explorar-lhe a profissão. Há a vida. Por muito que ela seja uma pobre rapariga, não pode deixar de gozar o meu braço trémulo sobre o sofá, o meu desejo que não consegue ter voz.» Mas se todos se fossem dali, seria possível a ilusão. Havia um mundo recôndito e ainda expectante nos olhos da rapariga. O beijo puro faria o milagre. Ela esqueceria que é um corpo que se vende. E João também esqueceria isso e muitas coisas mais. Os caminhos de um e do outro, sinuosos e divergentes, acabariam por convergir.
Ah, mas lá estavam sempre os outros, o espelho, o odor suspeito. A única solução seria, realmente, irem para o quarto. Ali seria mais fácil. No entanto, antes de lá chegarem, havia que atravessar a curiosidade feroz dos espectadores. A mofa. «Depois diga à gente se a mulher é boa!...» Ou: «Ó menina, vê se estragas o freguês!» Brutais, imundos. Preferível continuar na sala, de mãos suadas, o espelho repetindo-lhe o ar imberbe e a angustiosa frustração.
Ela, porém, não desiste. Tem experiência. Sabe que João Queirós espera um encorajamento, um segundo de irreprimível decisão. Se lhe incendiar o desejo, já ninguém o impedirá. Por isso, corre-lhe as mãos pelas coxas, sabiamente, perfidamente; espreita-lhe a inquietação.
- Tens um cigarro?
Já o trata por tu.
E ele sem cigarros! Mais um oportunidade perdida. Se tivesse um cigarro, ao dar-lho, poderia dizer-lhe, por exemplo, com uma velada intenção, que seria melhor fumarem juntos lá dentro.
- Não tenho, podes crer.
«Podes crer.» Para que ela ficasse bem certa da sua sinceridade.
A rapariga, por fim, desistiu. Levantou-se num gesto sacudido, humilhada. João Queirós ainda lhe estendeu a mão. Mas só o espelho reparou nesse apelo. A Celeste ri. O Pedrinho também já pode rir. O colégio avança da distância do tempo. A patroa da pensão, com o lenço atado à barba, acode também. Todos o venceram, todos o frustraram. Se a rapariga o fitasse de novo, uma vez mais, apenas uma vez mais, não desperdiçaria a oportunidade. Chamá-la-ia em voz alta, arrogante, acontecesse o que acontecesse. Mas não. Ela não dará mais pela sua presença. João Queirós sairá da sala tão furtivamente como entrou.
OUTRAS HORAS
Num domingo, ainda madrugada, em que o prefeito, barbeado de fresco, saiu do esconderijo, os olhos de ave carnívora vasculhando todas as camas, depois que ele se retirou, o Vieira, impaciente por gritar o seu triunfo, convidou os companheiros mais próximos a espreitarem-lhe os lençóis. No seu rosto inflava uma superioridade hesitante e misteriosa.
- Venham aqui ver.
Formaram um círculo reverencioso em redor da cama do Vieira. Havia ali uma nódoa. Uma pequena e estranha mancha.
- Que é isso, porcalhão? - inquiriu o Leoa.
O Vieira demorou a explicação. E depois disse, com solenidade:
- Já sou um homem.
O Leoa foi o primeiro a entender. Largou aos saltos pela fileira de camas, gritando o acontecimento. O Vieira era um homem. Estava ali a prova. Agora já poderia «ir às mulheres», mudar de camarata para o quarto dos grandes. Não deveria continuar ali, entre criançolas.
Era um homem. João Queirós, confuso e incrédulo, chegara-se mais uma vez ao local de adoração e deu voz à sua perplexidade:
- Mas, no fim de contas, de que se trata? O Leoa ganiu de protesto e escárnio.
- Então você não sabe do que se trata... Palerma!
- Parece... mijo.
O Vieira tomou aquilo como injúria e atirou-lhe com a almofada à cabeça.
- Mijo, hem? O badameco a entrar comigo!... Os outros, por sua vez, acharam justificado um par
de socos. E João Queirós, defendendo-se com os braços, gritava:
- Mas eu não disse por mal! Juro! Parecia mesmo mijo.
O Leoa, já mais brando, concedeu-lhe uns ares paternais.
- O bebé não sabe nada destas coisas, pazinhos! Explica-lhe tu o fenómeno, Vieira.
- Aquilo, meu velho - contemporizou o Vieira - é... Aquilo é langonha, ranho dos tomates. Pra fazer filhos.
João Queirós esbugalhou os olhos.
- Eu não sabia que era asim.
O acontecimento perturbou-o durante dias. O Vieira era um homem! À noite acudiam-lhe as recordações: a primeira vez que vira um companheiro de escola a fazer coisas e logo o imitara, repetindo depois essa surpreendente sensação quando havia um esconderijo onde ocultar-se ou outro companheiro disposto a experimentar aquele esquisito prazer. E todos pareciam sempre dispostos, e alguns, viciosos, até lhes punham alcunhas feias. Mediam a picha de cada um, a ver qual o campeão, os mais bem servidos diziam conhecer receitas secretas, como sumo de figo verde espremido sobre a cabeça do sexo. Mas aquilo ardia, João Queirós temia-se dessas experiências. A exibição mútua envaidecia-os e excitava-os, embora também lhes desse uma confusa sensação de culpa. Mas como resistir-lhe? As conversas,
as meias frases eróticas, a imaginação a antecipar-lhes gozos e depravações. As pernas nuas das raparigas, um pedaço de coxa que o vento descobria. Exaltavam-se as proezas de um amigo que corria as lojas da vila para colocar um espelho debaixo das saias das mulheres. Que via ele? Que mistérios se escondiam nas saias? Mais tarde, as noites do colégio, o desassossego informe, o desejo impaciente. Quando seria ele um homem? E daria ele por isso, tal como o Vieira?
Um dia, ao almoço, um companheiro explicou por que motivo um dos grandes tinha sido expulso do colégio essa manhã. A coisa fora-lhe contada pela cozinheira. (Que seios grandalhões e fofos, os da cozinheira!) O tipo havia sido caçado na rouparia com a lavadeira. Um prefeito denunciara-o ao director.
Foi o assunto do dia. A lavadeira! Uma aldeã vermelhaça, de nádegas fortes. A lavadeira. A sorte do tipo! Nem lhes apetecia jogar futebol. Juntavam-se em grupo, aos segredinhos, conspirando. Durante uma semana, nenhum deles foi capaz de estudar com aplicação e serenidade.
João Queirós não se fartava de imaginar a lavadeira curvada sobre os montes de roupa, deixado a nu o reguinho das pernas, e o outro vir por detrás, lançando-a ao chão.
Certa manhã, a sua cama, finalmente, apareceu manchada. Mas não chamou os companheiros. Aquilo deu-lhe alegria, sim, e também um pedacinho de indecifrável apreensão.
Ó pá: e ele deitou-se na cama com a rapariga, toda a noite, e não conseguiu encontrar-lhe o sítio.
Julgavam ambos que era no umbigo, os inocentes!
Riram, enervados, até lhes doerem os músculos do ventre. Mas, lá intimamente, todos perguntavam comm é que, afinal, se deveriam passar as coisas.
Veio uma ordem do director para se reunirem no salão das refeições, depois do estudo da noite. Janelas cerradas, uma luz amarelada e funesta. O director levava a todo o instante as mãos aos óculos.
- Estes alunos - e indicava três rapazes que chamara, com um gesto enojado, para junto de si - foram encontrados, na saída de domingo, e por um funcionário deste colégio, numa rua de má nota. Vou castigá-los diante de todos - e esfregava repetidamente os dedos - para servir de exemplo. Represento nesta casa as vossas famílias, os vossos pais. Um pai não deixaria de castigar severamente um filho que se porta sem dignidade.
Os três alunos, dos grandes, tinham a cabeça vergada ao peso da culpa. No entanto, talvez pudesse descobrir-se-lhes uma expressão de orgulho e zombaria. E, na verdade, enquanto o director erguia a palmatória uma, duas, muitas vezes, e os rapazes se encolhiam de dor reprimida, a maioria dos colegas, embora condoídos e revoltados, não podiam deixar de invejá-los. De desejarem estar ali, no lugar deles, recebendo o castigo.
- Sim, via-a toda nua. Parecia de prata. Estava estendida no pinhal. E o outro beijava-a por todo o lado.
- E mais? Que lhe fazia mais?
- Ora, não são coisas que se contem a fedelhos
Esta noite, cheguei à janela e vi a senhora do professor a despir-se. Ela tinha a luz do quarto acesa. Via-se tudo por entre as cortinas. Que corpo, meninos!
Durante muitas noites, por turnos, os rapazes espreitaram a moradia do professor. Inutilmente, porém. De manhã acordavam olheirentos e irritadiços. Havia muita briga nas horas de recreio. E o estudo não rendia.
Depois do almoço, num dia de feriado, o prefeito leu a lista dos que, pelo seu bom aproveitamento durante a semana, poderiam sair livremente a passear sem a obrigação do estudo da tarde. João Queirós foi um dos distinguidos. O Espada à Cinta, de olhos murchos, despediu-se do amigo como se este partisse para uma admirável e demorada aventura.
João Queirós mal conhecia a cidade. Receando perder-se, associou-se ao Vieira. Foram a pé até às ruas de maior movimento, admirando as casas, as pessoas, o ruído, os repuxos da grande avenida. Enchiam o peito às golfadas, como se a liberdade e o sol e a vida fossem coisas que se respirassem.
O dia estava quente. O colarinho engomado feria-lhe o pescoço. Esteve para desabotoá-lo, mas temeu desmanchar a necessária compostura. Trazia os sapatos impecáveis. O Espada à Cinta, festejando-lhe a primeira saída, tinha sido liberal na pomada, distribuindo-a Por todos os recantos, mesmo os considerados supérfluos. (No colégio só se cuidava da biqueira do calçado. Apenas nas datas excepcionais, a pomada e a escova tem mais longe.) Fato escovado, nódoas dissolvidas na água da torneira. Brilhantina domando-lhe, à força, a rebeldia do cabelo.
À passagem pelo cinema, à vista dos cartazes colori dos e sedutores, propôs:
- E se fôssemos ver a fita?
O cinema era ainda, para João Queirós, um espectáculo quase inédito. Vira umas fitelhas nos meses de férias, na praia de Mira, uma bonecada que saltitava como fantoches, mas sabia que o verdadeiro cinema deveria ser outra coisa. Em Febres, apenas o Dr. Silveira e o farmacêutico vinham, de quando em quando, aos cinemas de Coimbra.
- Qual fita? Se calhar, íamos perder esta rica tarde sentados numa cadeira!
João resignou-se, embora contrafeito. O colarinho martirizava-o tanto!
- Isto é que faz uma caloraça!
- Deixa, que eu levo-te já a um sítio fresco.
- Aonde?
- Eu cá sei.
Quando passaram por uma grande pastelaria, Vieira puxou-lhe por um braço.
- Que tal esta bolama, hem?...
- Estes com creme?
- Não, os outros forrados de chocolate. Caramba,"^ se eu tivesse umas massas!... - e olhou sorrateiramente para João Queirós, que já contava as moedas.
O anel, se o anel mágico fosse verdadeiro!...
- Tenho quinze barrotes - disse João Queirós. - Posso pagar-te um pastel. Ainda nos fica muito bago.
- Es um compincha, pá!
João sentia-se envaidecido e feliz. Comparou-se ao pai, que, quando vinha à cidade, convidava os amigos com um ar de discreta prodigalidade: «Venham daí, eu pago.» Eu pago. Como o pai sabia dizer essa frase! Como se sentia ufano de a repetir! Mas o pai era o presidente da Associação dos Ourives. Era isso que a ele, João Queirós, lhe apetecia muitas vezes escrever nos sobrescritos, para que os companheiros que tinham pais doutores e outras coisas mais verificassem que o confronto não o diminuía. Presidente. Só um presidente poderia usar essas palavras simultaneamente autoritárias e condescendentes: «Eu pago.» O pai era superior a todos. E ele, um dia, seria também um dos grandes de Febres. Igual ao Dr. Silveira. A sua cama já aparecera manchada, como a do Vieira. Agora era um homem e, mais tarde, um advogado rico e famoso.
O Vieira comeu o pastel e logo ficou cativado por um outro.
- Já viste este?
«Eu pago.» Generoso como o pai.
- Vê lá, se queres mais algum...
O Vieira nem agradeceu. Estava sôfrego de pastéis. João Queirós, também deliciado, saiu da pastelaria a chupar nos dedos.
- Não faças isso, porco. É indecente.
Ficou rubro de vergonha. Num instante, desabou-lhe toda a superioridade adquirida pelos dois pastéis oferecidos ao Vieira. Era ainda o menino que merecia e aceitava repreensões. A mãe, lá em casa: «Vê se não te sujas. Olha a gravata na sopa!» O prefeito a recomendar-lhe que não mastigasse como os cevados. O Vieira, apesar de ter comido os pastéis à sua custa, a vexá-lo: «Não faças isso, porco.»
Escondeu as mãos nos bolsos, limpou-as ao forro. Não disse palavra até chegarem à beira-rio. Lá em baixo, uma barcaça amarrada. Os barqueiros assavam sardinhas e espalhava-se aquele odor tão seu conhecido das feiras de Febres ou das horas da merenda, junto dos companheiros pobres que vinham à escola da vila atravessando quilómetros de areias e pinheiros. Eram magros e retraídos. E com a pele do rosto muito escura. Pareciam ciganos. Não eram filhos do melhor ourives de Febres, não tinham casa de telhado vermelho com uma voraz e soberba águia lá no cimo, símbolo de fartura e poder.
O odor, como das outras vezes, despertou-lhe um desejo impaciente de comer também as sardinhas. Só os pobres sabiam dar gosto à comida. Cebola, boroa, sardinhas. Mas, nas mãos deles, tudo isso era um manjar.
O Vieira, absorto, enfadado, asseava as unhas. Começava a perder o interesse pelo passeio. João Queirós era um tipo capaz de ficar horas encostado ao gradeamento do rio.
- Estou chateado, pá - anunciou o Vieira. - A gente podia aproveitar melhor esta tarde.
- Queres ir comer mais alguma coisa?
- Oh, é só no que sabes pensar. - Agora o Vieira afiava as unhas com o canivete. - O prefeito não vem hoje à Baixa, teve de acompanhar os catraios ao campo. Acho que podemos ir lá à vontade. Ninguém nos topa.
- Aonde?
Vieira fungou um sorriso.
- Às mulheres, pá! Onde querias que fosse? São mulheres bestiais!
- Já lá foste? - inquiriu João Queirós, ávido e aterrado.
Vieira fungou de novo. Mulheres bestiais. O Vieira queria levá-lo às mulheres, já o reconhecia digno dessa experiência. Iria, finalmente, experimentar uma mulher! A lavadeira, com a rugazinha da perna descobrindo-se ao rés da saia erguida. A senhora do professor a despir-se. Iria experimentar. Mas que diriam e fariam elas quando lá entrasse com o Vieira? «Estes alunos foram encontrados, na saída de domingo...» Os óculos a mudarem de posição. A palmatória erguida uma, muitas vezes. Depois uma carta para o pai: «Senhor Manuel Queirós, o seu filho foi surpreendido...» A mãe em lágrimas. Talvez lhe desse um ataque. O escândalo propalado por todas as casas de Febres. Quando ele passeasse na rua, os homens diriam, escarninhos: «Cá o crianço foi apanhado numa casa de mulheres...»
- Não, Vieira, isso não.
O Vieira fechou, devagar, o canivete.
- É contigo. Não posso obrigar fedorentos. Mas és trouxa.
Fedorento, trouxa. E as mulheres nuas, nuas!, a esperá-lo. Todas nuas. A lavadeira só mostrava um nadinha para cima dos joelhos. Uma ocasião única. Não voltaria tão cedo à cidade e, ainda que viesse, não teria um camaradão sabido como o Vieira para o encaminhar e estimular. O prefeito não apareceria pela Baixa. Se fosse à casa das mulheres, os outros, quando o soubessem, passariam a olhá-lo de outro modo. Contaria ao Espada à Cinta como decorriam as coisas. Iria, sim. Mesmo que fosse tremendo.
O Vieira estava muito longe dessas tormentosas cogitações; desse fluir e refluir de cobardias e decisão. Azedo e fechado, tirava agora lasquinhas à caixa de fósforos, mordendo-as em seguida.
- E aos tiros, também tens medo?
- Aos tiros...
- Sim, pá. Barracas de tiro. Também não sabes que é isso?
- Atirei uma vez com a pistola de meu pai.
- Deixa-te de histórias. Tu nunca fizeste coisa nenhuma a não ser mijar nas calças.
Seguiu o companheiro, de cabeça murcha. Se o Vieira tivesse insistido!... Iria às mulheres, pois. Bastaria que o Vieira... Mas agora era tarde. Perdera a melhor das ocasiões.
O Vieira enfiou-o por um labirinto de ruelas. Outra viela ainda e depois um largo pejado de barracas com vinhos e quinquilharias. O Vieira indicou-lhe a barraca de tiro. Estendeu desdenhosamente uma moeda à rapariga, escolhendo, reticente, como conhecedor, uma das espingardas. João só quis experimentar uma vez: em lugar de acertar numa rola multicolor, estilhaçou um púcaro de barro. O Vieira, embora sem entusiasmo, feriu um índio na testa e fez pender as orelhas de um coelho. Bruscamente, entregou a espingarda e disse com frieza:
- Vamos.
Atravessaram novamente o largo. Mas, então, numa direcção diferente. João Queirós só percebeu o objectivo do mutismo do companheiro quando lhe surgiu uma rua com mulherio espalhafatoso às portas. Apoiou-se no braço do Vieira. Nessa altura, porém, o Vieira era outro. Lançava baforadas de fumo em várias direcções. O seu passo bamboleava-se.
- Ó doutorzinho!...
- Filha...!
- Vá entra para aí - e empurrava João Queirós. Uma das mulheres riu desbragadamente. O Vieira piscou-lhe o olho e, indicando o companheiro, disse:
- Trago-vos aqui um camarada. Mas não o façam envergonhar!
João Queirós sacudiu o braço do Vieira, libertando-se. Custasse o que custasse, iria provar-lhes que era um homem.
Passou o reposteiro de chita, viu o catre encostado à parede, a mesa apinhada de bugiarias, o bidé, o espelho rachado ao meio. E tudo isso exalava um odor que o entontecia, que o nauseava. Sentiu a testa ensopada e fria, uns instantes mais e iria vomitar. Quase nem distinguiu o que a mulher lhe mostrava ao levantar, com gozo e provocação, as saias justas ao coxame. Não, não seria capaz. Não conseguiria provar coisa nenhuma.
João tratava-a como uma criança. Contava-lhe histórias de bruxedos e maravilhas, sentava-a nos joelhos,
chamava-lhe Mariazinha. Ela tinha nove anos. Todos os dias, a criada, depois de lhe pentear amorosamente os cabelos louros, acompanhava-a ao colégio das freiras.
A dona da pensão gostava que lhe amimassem a sobrinha. João Queirós usufruía certas excepções ao horário que lhe fora imposto apenas por ser o preferido da «menina». Era João Queirós o único dos rapazes que sentia prazer com os brinquedos da garota. Os grandes da pensão, por isso, chamavam-lhe o «segundo bebé». A zombaria irritava-o e entristecia-o, mas sentia-se quase sempre compensado em ser o companheiro dilecto da Mariazinha.
Olhos azuis, lindos. Cabelos de ouro, em tranças. Quando chegava do colégio, corria ao quarto de João Queirós, deitava a língua de fora ao Nequitas e, chamando o seu amiguinho para um recanto, desfiava-lhe atabalhoadamente as peripécias desse dia. Queria dizer e transmitir tudo ao mesmo tempo. Era ladina, viva e voluntariosa. Quando não lhe davam atenção, amuava e sujava o vestido de propósito. Sentava-se no soalho, roendo os dedos, espreitando as reacções de João Queirós pelo canto dos olhos. Ele via-se obrigado a erguê-la com paciência, conduzi-la de corpo amortecido para uma cadeira ou para cima da cama. Reparava, então, que o corpo da Mariazinha era já pesado, roliço, quente. E não percebia por que ficava perturbado. Ela, por sua vez, fitava-o demoradamente e, por fim, atirava-se de novo ao chão.
Certo dia, João ficou certo de que ela fazia tudo isso apenas para que a tomasse nos braços. E teve medo. Um medo esquisito. Passou a fechar a porta do quarto, a não lhe responder ao chamado. Espreitava-a da janela, como se ela fosse agora uma estranha. Mariazinha crescera. E tinha uns maravilhosos e suaves olhos azuis. As suas pernas eram brancas, ágeis, e muito bem torneadas. Seria uma linda rapariga dentro de poucos anos. Mais tarde... quem sabe... «E se alguém suspeita cá em casa? A Mariazinha é uma criança.» E sentia-se monstruoso e reconhecia que havia já em si a denúncia física dessa monstruosidade. Todos acabariam por verificar que ele olhava para a Mariazinha não como criança, mas como a sua futura namorada. A sua companheira. A sua mulher. Continuava, por isso, a fechar a porta às insistências e às birras da garota, a esconder-se dos seus olhares compungidos e reprovadores. Ela, quando o via sair para as aulas, ficava-se parada, em êxtase. Que bom seria correr para ela, passar-lhe as mãos pelos cabelos macios, beijar-lhe as pálpebras quase transparentes, tão delicadas!
Às vezes, quando entrava no quarto, ia encontrar bilhetinhos em cima da cama ou sobre a mesa de estudo, escritos na sua letra minuciosa de menina de escola. Uma noite, ao deitar-se deu com dois chocolates debaixo da almofada. João Queirós sentia-se repassado de inquietação e felicidade. Resistia, porém. Mas uma tarde, ao lusco-fusco, alguém, oculto por detrás da porta, lhe surgiu de súbito com um lençol da cabeça aos pés. Fez um recuo instintivo de medo e defesa.
- U-u-u!... - e a Mariazinha, desfazendo-se do disfarce, ficou de mãos escorridas ao longo do corpo, intensamente ruborizada, sem forças para nada. João não sabia o que dizer. Por fim, acabou por lhe acariciar o queixo, estimulando-a a levantar a cabeça. Ela, então, fixou-o um pedaço e pôs-se a chorar, como se a tivessem castigado. Pegou-a pela cintura e estendeu-a sobre a cama. Como noutros tempos. Mas agora isso não lhe bastava. Ou já sabia que poderia ir mais longe. Beijou-lhe os olhos, os cabelos, as orelhas. Ela sorria, embora as lágrimas lhe corressem pelas faces.
Um dia, um homenzarrão do Alentejo, chapéu com abas de dois palmos, trazendo à ilharga um serzinho mirrado, que parecia temer abrigar-se em tão corpulenta sombra, chegou à pensão. Eram o pai e a mãe da Mariazinha. E vinham para a levar. A Mariazinha chorava. A dona da pensão estava enfaticamente orgulhosa desse choro, interpretado como desgosto por deixar a tia, os bons tratos, tudo o que a tia sacrificara em sua intenção.
João viu-a descer as escadas, ainda lacrimosa, viu-a desaparecer, a mãozita num adeus que não findava.
Fora-se a sua noiva de olhos azuis. O mundo acabara.
Mira. Férias grandes.
Logo nos primeiros dias de praia, um amigo de Febres, estudante também, convidou:
- Vamos às lascas do pinhal?
- Não me sinto com disposição.
O outro sorriu. João bem lhe percebeu a troça do sorriso e, furioso, acrescentou:
- ...Mas isso não impede de te acompanhar.
- Não, não quero obrigar ninguém...
- Tu, se calhar, pensas que eu nunca entrei nessas coisas...
- Porque havia de pensar uma coisa dessas?... Era uma ironia ainda mais injuriosa.
- Vais ver.
Foram. As mulheres, ou os seus empresários, tinham alugado umas barracas de madeira, além das dunas. Pisavam-se uns arbustos requeimados pelo vento marinho, subiam-se dois degraus, empurrava-se a porta enigmaticamente entreaberta. Uma sala quase nua. Cadeiras em redor da mesa. Duas estampas, com pretensões a erotismo, nas paredes. As mulheres faziam tranquilamente croché. Afinal, não havia nada de medonho no ambiente.
João Queirós não perdia um gesto ou uma expressão do companheiro. Escolheu, como ele, uma das cadeiras, traçou as pernas com familiaridade, fumou. Por fim, uma das raparigas, levantando os olhos do bordado, disse:
- Já resolveram alguma coisa, filhinhos?
Apontavam-lhe uma espada. Sentia-lhe a ponta aguda na garganta. O companheiro fitou-o, interrogativo, como a legitimar a pergunta da rapariga.
- Tu já escolheste?
Patife. Não tinha outro remédio senão aceitar a emboscada. Portar-se como um homem.
Olhou a rapariga ansiosamente, à espera que ela se oferecesse, à espera que fosse ela a dizer as palavras necessárias. A mulher interpretou a insistência do seu olhar como um convite, ergueu-se da cadeira e pegou-lhe na mão.
- Anda, filho, vamos então dar o exemplo. Voltou do quarto muito congestionado, cabelo e gravata descompostos.
Nunca mais se ririam dele. Agora já sabia como era.
Depois disso, em Coimbra, aparecia por lá de vez em quando, mas sempre acompanhado. Nunca lhe seria possível a naturalidade que invejava nos outros. Aquilo sabia-lhe sempre a um delito, a uma fraude, a um insulto. Uma coisa que se deve esconder, que o sujava.
Certo dia, deparou-se-lhe um enterro, lá na rua. O caixão pobre e umas poucas mulheres atrás, chorando. Mais nada. O caixão pela rua imunda e o alheamento nauseado da gente que passava. À mesma hora, as outras que não tinham vindo vendiam carícias nos quartos próximos, forrados a papel cor de vinho. João Queirós retrocedeu. Não voltaria àquela rua. Àquelas casas. Porque, se voltasse, teria de lembrar todas as vezes o caixão pobre, a miséria, os sonhos fanados, os corpos leiloando-se à mesma hora em que um enterro passava na rua.
Mas, afinal, o enterro esqueceu. E, certa ocasião, uma delas pediu que lhe escrevessem uma carta. João, por coincidência, era o único dos presentes que trazia caneta. Subiram ao quarto.
- Escreve-me uma carta bem feitinha. Sim, jóia? E beijou-o com uma ternura quase maternal.
- Vá, escreve bem como eu digo: Meu moreninho: não esqueças a tua pretita, porque eu também não esqueci. Não me esqueças, moreninho. Eu sei que a gente há-de ser feliz. Hei-de fazer-te e dar-te tantas coisas!
A rapariga, por detrás dele, inspeccionava a escrita misteriosa. Tinha os seios quentes colados ao dorso de João Queirós. Talvez nem desse por isso. Mas ele dava. E, bruscamente, o desejo atordoou-o. Sentia a respiração sufocada.
- Já escreveste tudo? Ele articulou a custo:
-Já- Então, continua. Chama-lhe mais vezes o meu moreninho. Pergunta-lhe pela mãe. Eu digo como hás-de escrever: Estimo que ao fazer desta todos em tua casa estejam de saúde. A tua mãe já foi ao médico por causa do reumático? Que saudades tenho de ti, meu negro!
Os seios queimavam-no, faziam alastrar aquela labareda. As veias das fontes rebentavam, inchadas, tumultuosas. «Sou um miserável, não devo!»
Quando terminaram, ele ciciou:
- Podíamos ficar...
- Ficar o quê?
- Aqui. Os dois.
- Para quê? - disse ela com brutalidade.
- Para...
«Sou um miserável. Escolher uma ocasião destas!» Meu moreninho...
A rapariga fitou-o com raiva. Com desprezo. Mas, logo depois, despiu-se em silêncio.
Sempre que entrava naquela casa e a via, afundava os olhos no chão, comprometido. Como se ela tivesse assistido a um crime em que ele fosse o criminoso.
Um dia apareceu por lá uma mulher pequenina, discreta, educada. Era o seu primeiro passo na má vida - diziam. A notícia correu entre os rapazes. Todos a foram conhecer. A patroa deixara de prevenir, com ar dúbio e guloso: «Agora tenho cá uma destas especialidades...» Não era preciso: a rapariga nem era senhora de descer as escadas e sentar-se uns minutos. Havia sempre vários a esperá-la.
João frequentava a casa com mais assiduidade apenas para a admirar. Todos os modos da rapariga eram gentis e delicados. Falava pouco. Os clientes diziam maravilhas.
Ele ainda não se atrevera. E um dia arrastou o Rogério, na esperança de que o amigo lhe desse ânimo para a convidar. Estiveram meia hora na sala antes que ela aparecesse. Rogério deu um estalo com a língua.
- É pá, avança! Não percas isto!
Todos o ouviram. E ela também. João Queirós dissimulou de todos os modos, tentando que os outros não percebessem que o estímulo lhe era dirigido. A rapariga sentou-se no sofá mais recolhido, braços cruzados, e dir-se-ia desejosa que ninguém desse pela sua presença. Entrou um rapazelho barulhento, manifestamente bêbado. Tropeçou logo à entrada e desatou a rir. A patroa empurrava-o para a saída.
- Gira!
O ébrio esforçava-se por se agarrar ao corrimão. Ficara com uma expressão apatetada. Depois, súbito pôs-se a choramingar.
- Gira, bebedolas! - e dava-lhe pontapés nas mãos. O rapaz, resvalando nas escadas, mantinha-se, porém, seguro por alguns dedos.
O Rogério, lívido, ia a levantar-se para intervir. Foi então que a rapariga se ergueu do sofá, aproximando-se silenciosamente do intruso. Ajudou-o a equilibrar-se e, sem uma palavra, impeliu-o brandamente para a porta do quarto, fechando-se lá dentro com ele.
A patroa tinha ficado com o dedo apontado não se sabia bem para onde. O espanto imobilizara-a. Os homens sorriram entre si.
Algum tempo depois, a Suzette - João já lhe sabia o nome - apareceu de novo na sala com o rapaz. Ele vinha de cabelos e de camisa encharcados. Estava ainda meio tonto, soluçava a espaços, mas já se equilibrava com certa compostura. A rapariga deu-lhe um beijo na face e mandou-o embora.
João Queirós, quando Rogério se enfadou de estar ali, à saída pôde dizer à rapariga:
- Você teve um gesto bonito.
Não conseguira tratá-la por tu. E nessa noite adormeceu a imaginar a seu lado o corpo roliço e meigo da Suzette.
As suas relações com a rapariga tornaram-se muito íntimas. Agora era um hábito ir por lá depois de jantar, quase diariamente. Levava-lhe livros e guloseimas. Conversavam. João Queirós contava-lhe coisas das aulas, dos amigos, trazendo-a ao convívio da sua vida, enquanto Suzette lhe desmanchava carinhosamente os cabelos. Ela, por seu lado, oferecia-lhe pequenas lembranças, que ele guardava na mesa-de-cabeceira, para as ter nas mãos e acariciar sempre que necessitava do afago da sua presença.
O Pedro acabou por descobrir a «parvoíce».
- Vê lá o que fazes. Essas tipas dão mistelas à gente. Lembra-te de que o Tomé Barbas andou esparvoado com uma gaja dessas e depois... Escapava-se de noite pela janela, não comia, não dormia. Perdeu o ano, é claro, e quando a mãe deu pela coisa teve uma crise do coração e esteve quase a raspar-se para os anunhos.
O Pedro tinha razão - e nesses momentos prometia vigorosamente não voltar lá. Se a mãe soubesse, também ficaria entre a vida e a morte. Mas voltava.
Sentia pudor em conversar com Suzette em frente de todos aqueles porcalhões e, por isso, mandava um amigo anunciá-lo. Subiam os dois para o quarto. Se ela estava ocupada, João Queirós sofria horrivelmente. Tinha ciúmes doidos. Não suportaria mais tempo aquela situação. Um dia próximo, viria libertá-la de tal meio. Mas como? Ciúmes que o faziam rilhar os lençóis, à noite, quando esmiuçava, em pensamento, a intimidade de Suzette com os clientes a quem alugava o seu lindo corpo.
- Tolinho. - fazia ela. - Pensas que é por gosto? Nem os sinto, nem os vejo, nem lhes toco. É como se estivesse adormecida.
- Mas nem assim quero, Suzette!
Ela abafava o riso nas mãos gordinhas.
«Porque não tenho mais cinco anos e ela não é livre, não é como as outras?» Devia abandonar os estudos, empregar-se, fugir com ela da cidade.
- Vou deixar de estudar.
- Ele é isso?... Se não estudas, não te ligo mais.
O Joãozinho querido vai estudar muito para que a sua Suzette fique contente, prometes?
João acenava afirmativamente, rendido. E feliz.
O amante da melhor rapariga lá de baixo. Amante! Ninguém, nem os grandes, nem os burgueses endinheirados da cidade, nem os sedutores profissionais do bairro o tinham conseguido. Passeava com ares importantes entre os colegas despeitados. O Cristiano ficava minutos esquecidos tentando encontrar-lhe fosse o que fosse que justificasse a incrível preferência da Suzette. O caso intrigava-o. Parecia-lhe bruxaria.
- Mas tu, meio metro de gente, tu, de verdade... Que raio de feitiço foi esse? - Ou, então, para o danar: - Não te aguentas no balanço. Ela até os ossos te há-de chupar. Não tens físico para uma tipa daquela qualidade.
No entanto, ele sentia-se mal perante os outros frequentadores da casa. De uma vez, entrou na sala e percebeu muito bem os comentários rosnados à sua chegada. Levantou a sobrancelha, cuspiu como um rufia, e retirou-se com a sobranceria que lhe foi possível; mas, lá por dentro, trespassava-o um arrepio de vergonha.
Declarou à Suzette que não voltaria lá. Preferia visitá-la numa casita que ela alugara na vizinhança - um quarto e uma saleta -, marcariam horas. Ela chamou-lhe «palonço» e João nem chegou a perceber se o termo era um insulto. De qualquer modo, mostrou-se amuado.
- Se não te serve... - e, de súbito, a Suzette pôs-se a rir. Era o riso canalha que ele conhecia em quase todas as mulheres do bairro. Um riso degradante, que arrepanhava os nervos.
João, ao regressar a casa, lançou-se para cima da cama e fincou os dentes na almofada. Mas não conseguiu reter as lágrimas. Partiu duas ou três bugigangas que ela lhe tinha oferecido. Esteve alguns dias sem lhe aparecer.
Era o fim. Suzette não escondia o fastio. E fazia-lhe ciúmes por maldade. João Queirós refugiava-se naquele seu mutismo ressentido onde se devorava a si próprio, sempre que o mundo exterior o agredia.
Um dia gritou-lhe que não risse mais daquele modo. Ela, daí em diante, passou a rir por tudo e por nada. Era como as outras. Depravada como as outras
- Enrabichado, meu anjo de fraldas? Meu pirralho!
João Queirós procurou a primeira taberna.
Engoliu, à bruta, dois cálices de aguardente. A bebi da era uma labareda. Mas depressa sentiu, como desejava, o cérebro fechado e espesso.
Um mês depois, Suzette mudava de casa. Uma casa de outro preço.
O fim.
AINDA OUTRAS HORAS
Subia a ladeira, muito curvado, um molho de livros debaixo do braço. Eram ladeiras danadas. Ia para se sentar no rebato de uma porta quando uma voz muito melada o interpelou:
- Doutor Queirós, olhe prà gente!... A Lili sorria-lhe de uma das janelas.
- Você agora mora aqui?
- Acertou...
- ...Sozinha?
- Sempre sozinha...
Não punha os olhos na Lili havia muitos meses, desde que o Cristiano a levara uma vez à pensão, ao lusco-fusco, no maior sigilo. A Lili era senhora do palmo de cara mais jeitoso de todo o bairro académico; pena que fosse tão magrizela; e que tivesse umas nádegas tão deslocadas do centro de gravidade, que se tornava absolutamente necessário rectificá-las deitando-a sobre almofadas. A Lili de lábios húmidos e frescos. A Lili habitando nessa rua deserta, sozinha num quarto...
- Suba, doutor Queirós. Descansa cá em cima! Eram horas de regressar à pensão. Horas de jantar.
A mãe do Cristiano levava a mal que se atrasassem nas refeições. Mas a Lili era uma rapariga formidável; e das outras vezes os carinhos da rapariga tinham sido por empréstimo, uma imposição generosa do Cristiano: «E o Queirós? Então o pobre rapaz não leva nada?...» Horrível. E a Lili, por brincadeira, apenas para se divertir, fechava-o nos braços dengosos. «Pois claro. O Queirozinho também merece.»
E era assim que as coisas se passavam.
Agora, porém, o convite era só para ele. Horas de jantar, gaita! Nem de propósito. Mas se não aproveitasse o ensejo, a solidão da rua, o sorriso tépido de Lili, e o resto, toda a vida ficaria a recordar aquela oportunidade perdida. Ele passaria por ali outros dias (e iria passar com certeza!), mas talvez não voltasse a encontrar a Lili naquelas disposições e sobretudo sem a presença tolerante do Cristiano, sem a obrigação, perante os outros, de fazer aquilo que, naquele momento, Lili lhe oferecia tão naturalmente.
- Então, sempre sobe?
Horas de jantar. «E que tem isso? Sou ainda, porventura, o colegial?» Era um homem, claro. E subiu.
- Seu mau, porque não tem aparecido?
A frase arrepiou-o. Onde havia mais lascividade: naquela voz ambígua, mas fresca e melodiosa, ou na blusa vermelha que ela vestia?
- Não sabia que morava aqui.
- E, se soubesse, se calhar era o mesmo...
- Tenho tido muito que fazer.
- Desculpas!... Nenhum amigo me visita. Já não querem saber de mim.
A Lili vivera, não há muito ainda, uma vida decente. Filha de professores primários, viera para Coimbra cursar o liceu. João Queirós já não sabia bem como as coisas depois se haviam passado. O Cristiano dizia que ela tinha o vício no corpo. Nascera para aquilo.
- Sente-se mesmo aí na cama, repouse. Trepar esta rua não é para festas. Aí mesmo, pois. Já jantou?
- Não, ia agora jantar.
- Que bom!
- Porquê?
- Podemos jantar aqui.
A Lili gostava de doces. Pelava-se por doces. Ele sabia que muitos rapazes lhe retribuíam uma noite inteira de amor trazendo-lhe uns bolos. Os bolos podiam ser o jantar de ambos.
- Nesse caso, eu iria lá fora comprar qualquer coisa.
- Mas descanse primeiro.
A blusa vermelha aquecia o olhar. E era sedosa. Sedosa? Fosse como fosse, dava a sensação de que cobria, muito à flor da pele, uma carne túmida.
- Sente-se aqui ao pé de mim. Então que tem feito, seu fugidio?...
Pegara-lhe na mão. Ele tivera tempo de limpar o suor, discretamente, debaixo da capa. O Cristiano dizia que a Lili era uma rapariga às direitas. Um esplêndido coração. Merecia ter outra sorte. E se fosse possível, naquele instante, que Lili esquecesse tudo o que estava para trás, a vida, coisas degradantes - e os dois se sentissem como... como... os dois sentissem realmente amor um ao outro?!
- Está-se bem aqui, não lhe parece?
O calor macio das suas mãos penetrava-lhe nas veias, como uma droga. Desabotoara-se um dos botões da blusa vermelha. João Queirós amava Lili. Amor de verdade. Amava a Lili, filha do casal de professores primários, que viera para um liceu de Coimbra, que esperava um noivo. Um noivo - e não um amante. A outra Lili que o Cristiano lhe empurrava para a luxúria
- «Então o pobre rapaz não leva nada?» - não existia. Nunca existira. Iria comprar bolos, jantariam ambos no quarto, ficariam ali o resto da vida.
- Lili...
Que lhe ia dizer? Apoiara uma das mãos no joelho magro da rapariga. E até essa magreza frágil, e talvez miserável, lhe despertara o desejo de a proteger, de lhe rectificar as durezas da vida.
- Se você quisesse, Queirós... Gosto de si. É um rapaz bondoso. A renda do quarto é um peso danado. Em certos meses... Se eu tivesse um rapazinho que me pudesse dar uma ajuda, só uma ajudazinha... No resto, cá me arranjaria.
Não era a Lili. Era a Suzette ou outra qualquer. João Queirós quase teve o gesto de levar a mão à frente, para lhe impedir as palavras, a brutal revelação das palavras.
- É tarde, Lili. Estou a pensar que devo ir jantar à pensão.
Ela teve uma expressão de pânico.
- Espere um pouquinho mais. Já viu este meu retrato? Tinha dezoito anos. Nessa altura, prestava eu para alguma coisa. Agora, agora não valho um tostão furado...
João estava surpreso. Não desviava os olhos da fotografia. Sentia-se impressionado. Era um rosto de uma candura terrivelmente confiante.
- Maravilhoso!
- O quê? Isso?! Também não era assim uma beleza por aí além.
- Era, era.
A Lili, com a insistência, parecia melindrada. Era como se ele admirasse uma outra.
- Deixe isso. Já reparou que tenho uma cama confortável? Experimente aqui, no meio.
João pulou para o sítio indicado. Nem soube ao certo porque fizera aquilo. Agora apetecia-lhe rir.
- Porque te ris?
Quem fizera a pergunta? Quem rira? Ele, Lili ou a Suzette?
- Vou-me embora, vou-me embora!
E, teimando, como se repetisse uma lamúria, sentia-se um menino logrado. «Vou-me embora!», persistia ele, dentro de si, já na rua. E apetecia esbofetear-se.
SETE HORAS DA TARDE
Mulheres choravam às portas. Gritos agudos vindos lá de dentro, de uma das casas atarracadas. João espreitou a penumbra densa e remexida e inquiriu do que se passava:
- Foi a tuberculosazinha que morreu há pouco.
João lembrava-se. A rapariga de olhos garços, enormes, um corpo de haste quebradiça. Sentada à porta, embrulhada em xailes, definhando. O que restava de vida, de febre, de desespero, abrigara-se nos olhos imensos. João Queirós, às vezes, ia por ali e a rapariga pedia-lhe de empréstimo os livros que ele levava. A mãe desculpava-a:
- Deixe-a falar, não sabe o que diz, coitadita. - E mudando subitamente de voz, que perdia a entoação compungida e servil, voltava-se para a filha: - São para o senhor doutor estudar, maluca!
Dez anos, doze, se tanto. Magra de fazer dó, enrou-pada em tudo o que havia em casa, à espera que uma língua de sol descesse dos telhados até aos seus pés friorentos. Agora morta, lá dentro, uma chamazinha que tivesse deixado de arder. A vizinhança chorando. Gente escura, agoirenta.
Florinda saiu de casa, fixou João Queirós um tudo-nada mais do que as circunstâncias permitiam, escondendo uma camisita entre as mãos que, sob o vestido negro, pareciam mais encardidas - e entrou na sala do velório.
No cimo da rua, dois homens liam um jornal. E um deles soltou, inopinadamente, uma gargalhada.
A rapariguinha morta. Mas a cidade vivia: o saracoteio dos eléctricos, o ganido frenético dos automóveis, as pessoas alvoroçadas. Os jornais, as gargalhadas.
João Queirós entrou no quarto e fechou os olhos. Ali perto, num esquife, a morte.
TERCEIRA MANHÃ
A tua mãe não poude ir na semana passada. Vai amanhã na camionete de Mira onde tu a deves ir esperar na rua da Sofia como sabes. Tens estudado! Faz por estudar porque anda tudo muito mau o oiro está morto mal se ganha para o sustento. Espero que nos ajudes com a tua vontade para o trabalho, já me vieram dizer que tu paçavas muito tempo nos cafés e gastas tudo o que te dão como se fosses filho de rico. Escondi a tua mãe para ela não se apoquentar, é melhor que te julgue melhor que és. Ela anda mal com o reumatismo e com o coração, o doutor Silveira também está mal e nesta ocasião é mau porque a freguesia anda embruchada com doenças. O teu professor e o Sr. Julião recomendam-se. Mais uma vez te digo para olhares aos sacrifícios que eu e a tua mãe fazemos. Um abraço do teu pai
Manuel
O pai, alto, seco, cabelo liso levemente branqueado, as calças sempre justas às pernas. O pai naquela carta lamurienta, com erros de ortografia. Via-o a escrevê-la. A mão a tomar balanço num movimento ondeado, para que a letra saísse desde logo torneada e barriguda, enquanto a expressão dele se fazia grave. O dedo, com uma unha forte e não muito limpa, a vigiar a marcha da caneta, impedindo-a de se afastar das linhas. Qualquer carta, na mão de seu pai, era uma obra de arte. O pior eram os erros de ortografia. E aqueles três ou quatro selos colados no sobrescrito, até perfazer a franquia. «Como se fossem esmolados.» Já no tempo do colégio era humilhante que o contínuo lhe entregasse a correspondência de casa com essa ridícula multiplicidade de selos. Nunca pudera entender por que isso acontecia de todas as vezes. Talvez o pai fizesse de propósito.
Via-o a escrever: os óculos das grandes ocasiões postados quase na extremidade do nariz. «E que mais?», perguntava ele, atento às recomendações da mãe de João Queirós. A mãe, de olhos húmidos, como se cada carta fosse um prenúncio de tragédias. Baixinha, um tanto gorda, a pele de um branco leitoso, as mãos apoiadas sobre o arquear do ventre. E o gato felpudo, espreitando com astúcia do outro lado do balcão. Era a hora de o Sr. Queirós soltar as rolas. Tens estudado? Os pinheiros de Febres, melancólicos, esqueléticos, fechando a vila de todos os lados, guardas apáticos de uma prisão.
Lambuzadas as dobras do sobrescrito, colados os selos - era o silêncio entre os pais, durante o qual cada um deles, a seu modo, fazia uma severa revisão dos desmandos de João Queirós. Tal como nos serões dos seus tempos de escola. O Sr. Queirós investigava a pontualidade do relógio grande da parede, verificando depois se os outros lhe tinham seguido o exemplo, e arrumado o seu dia de comerciante, farpeava-o:
- O teu professor disse-me hoje bonitas coisas a teu respeito...
- Mas não se passou nada, pai! Que disse o Senhor Hernâni? Se calhar, mentiras.
- O Senhor Hernâni não mente.
João mordia as pontas dos dedos. Os pinheiros que fechavam as saídas da vila. Os dias rasos. O corpanzil do Sr. Hernâni, com o capote adejante, sinistro, a prolongar-lhe a largura dos ombros até ao chão. Subia-lhe um furor de escapar-se de casa, de atravessar o cerco dos pinheiros, depois de, previamente, ter ido à escola retalhar com uma navalha o carão do mestre.
- Anda, vai-te deitar, moinante.
O pai, alto, seco, embora nos seus olhos permanecesse uma humildade terna e frustrada. O pai naquelas linhas certíssimas da carta com um sobrescrito de três selos.
Ficou-se a olhar o pedaço de céu queimado de sol. O céu não era azul, não: era lume, uma brasa. Um rectângulo de fogo colado na janela. Mas tudo isso era longe, lá fora. Ele estava num quarto, numa cela. Preso. Sentado num banco, mãos espremidas de uma terrível expectativa. Preso. E o pai, em Febres, encastoando a lente do ofício no rebordo dos olhos:
- O meu filho está preso. Passava o tempo nos cafés, a gastar o que me rouba. Despreza os sacrifícios da família. Tenho ali a prova, senhores. Queiram apreciar.
E corria o filme. Os cafés, as mulheres que João amou e ama ainda, as meretrizes, os boémios seus cúmplices e seus amigos. E os pais, por fim, labutando sempre, reduzindo todas as suas aspirações ao futuro de um filho que os escarnece.
- Está preso, senhores.
E a Celeste vinha espreitar a cela e ria, sem pudor, através das grades.
Grades, não. Para lá da clausura havia apenas o rectângulo liso de um céu em labareda.
NOVE HORAS DA NOITE
- Nada de crimes... Fico eu a vigiar a escada. Trabalhem à vontade.
- És sempre o mesmo. Os outros que se quilhem, hem? Bem te conheço.
O Pedrinho enrubesceu ligeiramente, mas preferiu não dar importância ao comentário de João Queirós.
- Vá, trabalhem. Confio nos meus escravos.
- E deliciou-se a apreciar a reacção furiosa dos seus dois cúmplices.
Depois do jantar, Cristiano entrou-lhe, como um furacão, pelo quarto.
- Se soubesses, pá!... O Senhor Torres, o Senhor Torres, vê lá tu, tem uma caixa de vinho do Porto clandestina.
- E que tem isso?
Mas Cristiano não lhe ouvira a pergunta. O Pedrinho já estava por detrás dele, esfregando as mãos.
- Queres vir também, pá?
De súbito, sentiu uma necessidade urgente de se afogar em irreverências, em loucuras, em riso.
- Mas é verdade?
- Verdadezinha. Da pura.
Foram dali ao quarto do Sr. Torres - o velho sovina da pensão. O Cristiano tinha encontrado um martelo na despensa e vinha ofegante do triunfo e do nervosismo da descoberta.
- Não há caixa que resista a um instrumento destes. Vamos a isto.
- E se ele aparece de repente? - receou João Queirós.
- Fugimos. Além disso, o martelo pode ter vários préstimos...
O Pedrinho foi mais realista. Pôs-se a chupar um cigarro e alvitrou:
Nada de crimes... Fico eu a vigiar a escada. Trabalhem à vontade.
És sempre o mesmo. Os outros que se quilhem, hem ? Bem te conheço.
O Pedrinho enrubesceu ligeiramente, mas preferiu não dar importância ao comentário de João Queirós.
Vá, trabalhem. Confio nos meus escravos.
E deliciou-se a apreciar a reacção furiosa dos seus dois cúmplices.
Talvez João Queirós nunca tivesse bebido tanto. Mas sem prazer. O vinho era esse gosto avinagrado, a náusea do estômago, o cérebro estupidamente obscurecido. E a náusea, sempre a náusea, a revolver-lhe as entranhas. Mas sob esse torpor embaciado havia uma zona de claridade, de libertação, asas que se escapavam para uma alegria saborosamente irresponsável.
Não, não está ainda bêbado. Deseja apenas convencer-se disso. Ri à toa. Estas árvores desenraizadas, que voam, fogem, o taberneiro que veio à porta, o Sr. Torres que deve ter regressado ao quarto e grita: «Fui roubado!», tudo isso, autêntico ou imaginado, lhe dá imensa vontade de rir. O taberneiro, o Sr. Torres, as árvores movediças, estão ali como figuras de uma pantomima. Estão ali para que João Queirós, o Cristiano, o Pedrinho, se fartem de rir.
Janelas... caras... um homem que passa... Estão sérios? Não riem? Não têm asas para se escapar.
O Cristiano propõe, de súbito, uma serenata à Celeste, «à putéfia que corneou o amigo». Cristiano é dos fixes: mesmo bêbado não esquece a ofensa. Sente-a como feita a si próprio. Uma serenata para ela ouvir, para que saiba que João Queirós tem amigos solidários com a sua desventura.
Ei-los chegados. Chove. Mas à tarde havia um céu vermelho. Como foi isso? É uma chuva traiçoeira, furtiva, miudinha.
O Pedrinho canta. Tem a mania de ser o primeiro em tudo, passa logo à frente seja de quem for. Luz nas janelas, lá no cimo, no último andar. O quarto dela. A Celeste a sacudir os tapetes, a tocar piano, a atarefar-se em mil coisas úteis e inúteis - uma dona de casa. Há luz nas janelas, lá no cimo: portanto, ela está a ouvir.
A chuva escorre-lhe da capa para as mãos. Sacode-as, fixa-as com pasmo, como se, antes disso, nunca as tivesse apreciado. «Tenho as mãos cabeludas, pareço um macaco.» E que tem isso? Mãos bonitas são as das mulheres. São as da outra. A outra - quem? Maria Leonor tinha umas lindas mãos. Mas isso foi há muito. Florinda tem as mãos enxovalhadas do trabalho. A outra será a Celeste?
Agora já não ri, sente-se dividido por lembranças, por infelicidade, por coisas sem nexo. O que permanece de concreto, de imediato, é a voz ridícula do Pedrinho. Tens estudado? Faz por estudar que anda tudo muito mau o oiro... O pai não sabe distribuir as vírgulas. De nada lhe serviu ter sido marinheiro, quando jovem, ter visto terras, gentes. Mais uma vez te digo para olhares aos sacrifícios. Olha aos sacrifícios, João! Faz do teu estudo, dos teus sonhos, da tua juventude, uma espécie de punição; enfia o cérebro, o coração, os desejos, nos pinheiros da Gândara! Refreia-te, estrangula-te, obedece-lhes! Os teus desejos devem ser os deles.
Inútil ter bebido. As asas estão quebradas. Não podes fugir. O Sr. Torres que venha recuperar as garrafas. Canta tu, Pedrinho, que és um bobo! Nunca imaginaste que eras o bobo, pois não? Lá está a outra... Não ali
em cima, nas janelas iluminadas. A outra, só agora a reconheceu, depois de beber. Afinal, sempre foi bom arrombar a caixa do Sr. Torres. Vê a outra porque bebeu. Está lá em baixo, na cadeira de verga, bordando ou sonhando. A outra é Florinda. E não precisa de ter mãos bonitas.
- Vai à fava, Celeste!
«Para que gritei? Mas quero gritar, hei-de gritar, hei-de gritar as vezes que me apetecer, ainda que o Pedrinho, danado com a interrupção, me leve as mãos à boca! Cheiram a vinho, as mãos do Pedro. Ora bolas, cheiram a vinho.»
O Cristiano também quer experimentar os seus dotes de cantor. A voz dele nem chega a ser pretensiosa, como a do Pedrinho: é arrastada, trôpega, uma caricatura:
Ai venham ver
Venham ver a trupe do...
Mas, se não sabe cantar, discursa. Ei-lo a desafiar a Celeste, fulo e baboso:
- É isso! Viva a trupe do João Queirós, do Cristiano, que sou eu, do Rogério, de todos os Pedros e Pedrocas deste mundo! Viva! Abaixo a porca da Celeste! Morra, que trocou o nosso Queirós por um pteridófilo qualquer! Morra, sua bácora!
João lamenta esse descalabro de palavras avinhadas. O Cristiano tinha começado por Ai venham ver, venham ver a trupe do... e ficara-se nas reticências. Ora ele ia a dizer «a trupe do Queirós». Queirós - apenas. Queirós sem mais nada. Teria sido estupendo que ele o dissesse, para que Celeste ficasse a saber que os amigos o consideravam o mais cotado de todos, o chefe. A trupe do... Bem, em todo o caso Cristiano insinuara o bastante.
E João Queirós sentiu-se, subitamente, redimido.
Fecharam as janelas com estrondo. Chove ainda. Pedrinho e João Queirós levam o Cristiano à força. E acabam por tropeçar e cair uns sobre os outros.
As bebedeiras terminavam quase sempre no bairro das meretrizes. Era um ritual obrigatório. Para lá se dirigiu a trupe. Pelo caminho, encontraram vários conhecidos. O Cristiano reconciliou-se com o Ernesto, companheiro de turma, que vinha do cinema. Nenhum azedume poderia resistir a uma bebedeira optimista. O Cristiano abraçou-se ao outro, um manhoso e intri-guista beirão, de lágrimas nos olhos. O optimismo, às vezes, também se exprime por lágrimas.
- Ó Felisberta, já não estás zangada, pois não?... O Ernesto lembrara-lhe uma velha aldeã, bisbilhoteira e resmungona, chamada Felisberta. Descobrira agora, de repente, a identificação.
Mas as lágrimas, mesmo optimistas, são lágrimas. E daí, veio logo à superfície um chorrilho de desgraças. O Cristiano, afinal, tinha uma boa maquia de penas a revelar. O Pedrinho e João Queirós sentiram-se imediatamente coniventes com as íntimas e nebulosas confissões do amigo e desataram também numa choradeira. Alguns transeuntes pararam para averiguar do que se teria passado.
João Queirós, porém, alheou-se de um momento para o outro. Esta rua... esta luz... Já passou muitas vezes por aqui. Em que época, em que vida? O cérebro afunda-se-lhe, gradualmente, num alçapão. O Cristiano diz:
- Vamos lá?
- Aonde? - pergunta o Pedrinho, de propósito, para obrigar o outro ao embaraço do pormenor.
- Não vou.
Quem disse «não vou»?, João Queirós ou um dos amigos ?
- Quê?!
Um deles despejou, para o nariz dos outros, uma baforada de vinho.
Esta rua... É por aqui, efectivamente, que João costuma vir nos dias das suas vinganças. Contra a Celeste, contra os pais, contra todos. Mas nestas ruas havia mulheres. Portas com uma luz duvidosa. Agora tudo isso é irreal. Candeeiros sonâmbulos, gente sonâmbula. As casas são feitas de papel, pertencem a um cenário fantástico. João Queirós anda, anda. Começa a ter a impressão de que a rua não tem fim, que ele é um ser imaginário e intruso, absurdo. Absurdo. Então não é verdade que ainda nessa manhã recebeu uma carta do pai com vários selos no sobrescrito? E lamúrias e vexames e degradações pequeninas? Aquele que recebeu a carta não pode ir ali. É um ser tolhido, aprisionado, sufocado - não pode ir ali, com asas, numa rua sem espessura nem distância. Não é ele.
- Alto, malta! O Cristiano.
Tudo é real, por fim.
Param. Não se pode continuar. «Alto!» O rio saltou a amurada, alastrou-se pelo bairro. O rio não suporta duas gotas de chuva.
Fazem um desvio por cima de umas tábuas de emergência. As pessoas do bairro estão sempre prevenidas. O rio não suporta duas gotas de chuva.
Estão agora em frente de duas casas, das tais. Nem risos, nem música. Compreende, enfim, porque a rua é diferente. Os clientes não se aventuram. O rio transbordou. Está um barco junto à taberna. «Jogo de mulheres dá sorte. Comprem jogo à velha anarquista!» Que é feito da velha cauteleira de cabelos proféticos? Porque não está ela à porta da taberna com os cabelos ensopados, como as bruxas?
- O barqueiro!
Cristiano é, agora, o mais lúcido. Tem consciência da utilidade dos barcos.
- O barqueiro!
Saltaram para o barco, rindo, rindo da imprevista aventura.
- Eu guio, eu guio...
- Tu não prestas!
- Segura-te!
- Segura-te tu, lingrinhas!
- Eu vou ao leme.
- Ao leme? Isto não é barco de lemes. Estás pior que um tordo. És um borracho.
- Ó meninos, ó meninos! Para onde é a passeata? Quem os interpela é uma matrona ignóbil. Será a dona do barco?
- Ó tiazinha, o barco é nosso! E os outros, num eco:
- O barco é nosso!
Tudo lhes pertence. Nessa noite, as asas voam.
Elas chamam. João Queirós vai sentado na proa e agarra-se desesperadamente para não cair. Tem os sapatos encharcados. O balanço do barco, a noite, a luz agónica, a chuvinha sinuosa... É ele, afinal. O resto não passa de cenário. Há também outras coisas reais: a carta que veio de Febres, o tribunal, a Celeste - um mundo para esquecer. É ele, afinal, mas com asas. Soltou-se da prisão. Com asas pode-se ir a todo o lado, estar-se simultaneamente em muitos lados. Em Veneza, por exemplo. Isto é um canal, isto é uma gôndola. É Veneza. Que bom. Partiram-se as grilhetas. Está em toda a parte e a vida pode penetrá-lo, possuí-lo, às golfadas, como se fosse uma respiração. Ri. Ri, feliz, para si próprio. Os outros não poderiam entender. Mas donde vem o sono, um sono brusco e irresistível? Os olhos vão fechar-se, vencidos.
- Subam, filhos... Abriguem-se.
Não é Veneza. É Coimbra. São as ruas imundas de Coimbra. E ele é o herói lastimoso das histórias com a Celeste, a Florinda e os pinheiros de Febres. O pai. A carta com vários selos.
- Como?... - arrastou o Pedrinho. - Está uma prancha à porta.
Uma delas espera-os no cimo das escadas.
- Vocês são uns doidos!...
É uma frase mimalha, cariciosa. Daria bons anos de vida para a ouvir de outra boca e noutro lugar. «És um doido!» Como será essa frase noutra mulher? Em Celeste... em Florinda?
- Aqui também chove? - fez de engraçado o Pedrinho.
- Depende, filho. Se tens a torneira aberta... Ignóbil. Aqui não está a Celeste nem a Florinda.
Mas talvez seja possível uma ilusão. Para que bebeu, afinal? E acomete-o uma fúria de beijar doidamente a mulher ignóbil. Aperta-lhe um braço até fazê-la ganir de dor.
- Deixa-me, bruto! Olha ali para o teu sócio!... Cristiano estatelara-se nas escadas.
- Tens as mãos frias, deixa-me em paz!
Se fosse a outra, ter-lhe-ia puxado brandamente as mãos, aquecendo-as no seu peito acetinado e morno. A outra, a outra! Mas esta boca húmida, trémula, é da outra. E irá beijá-la. Seja como for, tem de beijá-la. Correu mundos, de asas livres, para obter esse beijo.
- És um animalzinho. Já te disse que me deixasses em paz.
Esta é uma burla. Inútil insistir. E a outra está longe, ou não existe.
Cai no sofá. Fica deitado ao comprido, já sem forças. Cerra os olhos. Agora é a irreflexão, a penumbra. Mas uma penumbra delirante. Vê uma rua, com uma luz baça de velório. Uma taberna. Cantam na taberna: é a voz saturada de uma mulher. Ele passeia cá por fora, mãos nos bolsos. De súbito, agarram-no pelas costas e levam-no à força. «Eu não quero ir!» Mas nada pode contra esses braços. E, no entanto, não são braços fortes. São braços de uma mulher. «Eu não quero ir! Quem és tu?» Cérebro, tronco, membros, todo ele está aprisionado. «Larguem-me!» Tapam-lhe os olhos. Atiram-no, como uma coisa insignificante, para longe. Cai na água. Sente que é na água. «Um barco, um barco!» A água entra-lhe nos brônquios, sufoca-o. «Não sei nadar! Afogo-me!» Alguém zomba das suas aflições, lá adiante, numa das margens. Mas não: o rio não tem margens; corre entre duas folhas de papel. É a carta do pai, dobrada em ângulo recto. É a carta. Ou a rua? A rua que ele há pouco atravessou de barco? «Afogo-me, salvem-me!» Inútil: ninguém lhe estende a mão. Vai sufocar-se. Pronto: acabou.
Abre os olhos. No tecto há uma nódoa. Parece uma mancha de nanquim.
- Música! Abre o rádio!
- Deixou de chover.
- Viva a folia!
Quem tiver filhas no mundo não ria das desgraçadas porque a desgraça...
O Pedrinho teima em cantar.
- Fecha a cloaca!
Desgraçadas, desgraçadas. Desgraçadas e mulheres honestas. Há disso? Que é a Celeste, afinal?
Está alguém na sua frente. «Eu conheço aquela cara.»
- Deixou de chover, matulagem!
- Vão tomar o fresco lá fora!
Já viu aquela cara. É um tipo imbecil e irritante. Conhece-o, não sabe donde. Irá esbofeteá-lo. Avança, trôpego, para o outro.
- Que vais fazer, pá?
Tem de esbofeteá-lo. Mas o outro também se aproxima, e vê-se bem que são idênticas as suas intenções. Que irá passar-se?
- Partes o nariz de encontro ao espelho!...
Ah, é o espelho. Odiou-se a si próprio. E este perfume? Entra-lhe pelo estômago, vai transformar-se num vómito. Como daquela vez em que o Vieira o levara à tal casa do Terreiro da Erva.
- Não uses mais esse perfume.
- Que tem o perfume, meu ordinário?!
- Vá, ponham-se a andar.
Alguém o empurra. Empurram-no sempre, de toda a parte.
- Não uses esse perfume.
- Cueiros, é do que vocês precisam. Andor! O Pedrinho grita uma obscenidade.
QUARTA MANHÃ
Abriu a janela e, de dorso nu, mergulhou a cabeça na bacia do lavatório. Chegava ali o frémito da rua. Em Febres, não havia a leiteira, o martelar do carpinteiro. A vila era o interior de sua casa: o ruído dos pratos na cozinha, a mãe a rabujar com a criadita, quase sempre por causa «das suas poucas-vergonhas com o namoro», o miar raivoso do gato quando alguém, distraidamente, lhe interrompia a modorra saborosa. A par disso, a vila era a zoada sibilina dos pinheiros. E também o latoeiro, às vezes, quando o vento vinha do lado das dunas. A mãe batia-lhe à porta: «Mexe-te!», ele revolvia-se na cama, primeiro para afugentar o mundo sonolento que a mãe sobressaltara, depois para experimentar, como quem imerge precavidamente um pé na água antes do mergulho, o outro mundo que a mãe trouxera consigo: o vaivém sacudido da criada, corredor abaixo, corredor acima, alguém que batia à porta e cumprimentava o Sr. Queirós. Manhã, enfim. Ele afastava os lençóis sem entusiasmo e, ainda entorpecido, abria a janela de par em par: os pinheiros. Sempre os pinheiros. O orvalho da manhã cintilando nas folhas. O cão serrano do médico a esgadanhar as grades do portão. Na rua, gingando sobre o selim da bicicleta, o carteiro. E as mulheres do povo, de saias curtas e chapeuzinho típico segurando os cabelos lustrosos. Gente sombria, no entanto. Monótona e sombria como a paisagem.
Já na cozinha, o «passou bem a noite, menino?» da criadita negrusca - ainda uma adolescente, mas sonsa e maliciosa como as maiores. Que seios tinha a cachopa! Pontudos, duros, indecentes. A bênção da mãe. O pai subia as escadas pausadamente. Comiam todos em silêncio, ainda de palavras cosidas, empoleirados em banquetas de pinho.
E o silêncio era opressivo. Havia o que quer que fose a não deixá-lo respirar.
Vinha da escola, pasta a tiracolo, descia o terreiro e alinhava a «ponta-direita» ou a «guarda-redes» num dos grupos de futebol. Era dos mais inflamados: berrava a todo o instante para que lhe passassem a bola, protestava, orientava, acudia aqui e ali, pontapeando bola e terra, indiferentemente, até se render, furibundo e esfalfado.
O Sr. Hernâni, quando estava de maré, vinha servir de árbitro à rapaziada. Acompanhava-o o ajudante de farmácia. Nessas ocasiões, João Queirós repartia-se ainda mais por todos os lugares do improvisado campo, escorria-lhe o suor pelas faces afogueadas de tanta lida. Até que o relógio da torre batia, com solenidade, uma, duas, muitas horas. Batia-as pesada e sadicamente, e os pinheiros, conduzindo o vento, repercutiam-nas muito longe. João tremia dos pés à cabeça. «Já são sete horas, estou amolado!» Largava a bola, sumia-se, encolhido rente ao muro, contemplando uma última vez a bola e os parceiros, e ainda clamava: «Passa!» Mas já não voltava atrás. Faria uma paragem na farmácia, onde pedia uma folha de cartão para lhe refrescar as faces comprometedoras. O suor, porém, não deixava de lhe rebentar
por todo o lado. Ao entrar em casa, com o rosto às malhas, cosia-se com o balcão, dissimulando, como podia, o cansaço.
- Boa tarde, pai.
O pai consultava as horas antes de responder à saudação.
No primeiro andar, o irmãozito fazia rodar o camião pelo corredor fora («Quero ser chofer!”); a criada chamava para a merenda. A mãe, se o pilhava entretanto, ao vê-lo de faces esbraseadas, inquiria:
- Jogaste, patife?
- Foi de vir a correr até casa.
Mas essa ingénua desculpa não lhe evitava o puxão de orelhas. João fugia para a loja. O pai, que ouvira o ralhete, desembaraçava-se sem pressas dos óculos, pegava numa tábua e chegava-lhe.
Horas marcadas, vigilância, ralhetes. Todos a fechar-lhe uma réstia de liberdade, de alegria. Era a pessoa mais infeliz do mundo. Estava absolutamente convencido de que todas as injustiças tinham sido guardadas para si.
O irmãozito, lá em cima, correndo com o camião, e a mãe a dar-lhe bolos de coco, bolos que só o irmão poderia comer sem conta nem medida.
Era o mais infeliz do mundo.
Pinhais, areias, o mugido soturno do mar - perto ou longe, consoante o vento. E lagoas, rãs coaxando nas ilhotas que eram matagais de juncos, patos-bravos, um sol enfermiço a precipitar a agonia dos dias. Desolação. à noite, enquanto na farmácia se discutiam os editoriais de O Século, a voz do mar soltava-se de um imenso búzio e, com a cumplicidade das trevas, coalhava-se na ramagem das árvores. Ficava ali, densa e turva, até à manhã seguinte.
João, não obstante, gostava de ouvir o mar. O irmão dormindo, com os camiões espalhados no tapete. A mãe a decifrar charadas do Ecos de Cantanhede. O pai na farmácia. Era então que a voz do mar tinha outra linguagem e só ele, solitário, a poderia captar. Apetecia-lhe ir ouvi-la à beira de uma das lagoas, sentado nas raízes de um pinheiro velho. Mas temia as sombras da noite, as emboscadas, os perigos indecifráveis; e temia ainda, e sobretudo, que em casa dessem pela ausência.
Era um medricas e os companheiros da escola bem o sabiam. Fugia, por exemplo, dos cães e quando procurava justificar o seu horror às lagartixas e cobras que os outros caçavam nos matos, todos adivinhavam que esse horror era outra coisa. Mas como vencê-lo? Como seria possível não ter medo? Já o pai, um dia, intencionalmente, o levara ao crepúsculo a um coito de silvedos, onde se dizia que pernoitavam meliantes, e, puxando de um revólver do tempo das lutas dos regeneradores, sentenciara:
- Um homem nunca deve ter medo. E, se o tem, fá-lo calar com uma arma nas mãos.
Mas João não podia ambicionar um revólver. E, entretanto, sentia-se miseravelmente desamparado com os seus terrores, embora, ao espelho, estudasse as expressões mais corajosas e ferozes.
Outras vezes, deslumbravam-no as reuniões na farmácia, onde decerto se discutiam coisas secretas do mundo inviolável dos grandes. Encostar a cabeça nas grades do balcão, ouvir, aprender, decifrar, sem que dessem por ele. Sentir a ilusão de ter sido levado ali por seu pai. Sentir que o pai era um companheiro e o guiava no caminho para homem.
Quando a tábua lhe escaldava desapiedadamente os fundilhos, ou a mãe, com a mesma brutalidade, lhe torcia as orelhas, encafuava-se num canto, desabafando: «Bruxa! São uns carrascos! Não gostam de mim. Odeiam-me.» E pareciam-lhe então repugnantes o rosto flácido da mãe, o sinalzinho rechonchudo, com dois pêlos salientes, à beira da pálpebra direita; o talhe ríspido das faces do pai. Não, não era filho deles. Não se maltrata um filho. E então, tragicamente, afagava a faca da cozinha, sentindo-lhe já o gume no pescoço magro. Ou, em vez de suicídio, partir por esse mundo, sem família, sem amigos, como os vagabundos. Partir. Não ter nada de comum com aquele homem alto, duro e descarnado; com aquela mulherzinha de passinhos fofos que dava bolos de coco ao filho mais novo e ao outro (ele, João Queirós) só palavras como esta: «Jogaste, patife?»
Mas nem sempre se sentia assim desdenhado e infeliz. Quando havia reunião na Associação dos Ourives, acompanhava o pai com alvoroço. Sentado na presidência, o olhar humedecido de prazer, o pai sacudia a poeira das actas, começando:
- Caros consócios: a reunião de hoje tem por fim...
E João Queirós, cruzando as pernas num banco afastado deglutia com emoção aquele instante incomparável de ser filho de um homem que se sentava na mesa da presidência, ouvido com respeito, apoiado com convicção. Tudo isso, nesse e noutros momentos, era bem mais importante do que as violências, os ralhos, as injustiças.
A sineta da escola, as portas abertas para o recreio, a rua, a liberdade. Espremiam-se à saída da porta, de enxurrada, a caminho da Lagoa de Cima.
João ficou-se uns instantes a vê-los partir. O último, um negrito cujo pai o trouxera de África no fundo da bagagem, depois de uma aventura malograda para enriquecer depressa, também já ia para lá do terreiro. Não resistiu. Arredando a sombra do castigo, largou, temerário, por ali fora. Despiu-se como os outros e com eles se lançou à água. Quando deu o mergulho, foi como se o corpo e a alma se tivessem esvaziado de terrores. Era o vácuo, um vácuo terrível e fascinante. Ganhou pé, ao fim, e logrou equilibrar-se na água. Um dos companheiros preveniu:
- Tem cuidado, pá. Não te atires sem uma bóia de cortiça.
O outro dava-lhe uma boa justificação para adiar novas ousadias. Sim, voltaria, e com uma bóia de cortiça. Já sabia onde a poderia arranjar. Vestiu-se e esperou pelos companheiros, regressando com eles à vila. Alguns troçavam do pretito.
- Eh, escarumba! Não voltes cá com a gente. A lagoa até se pôs negra.
O garoto afastou-se, coçando os olhos, e João associou estranhamente a sua expressão com certo dia em que encontrara o pai dele numa fazenda longínqua e o vira esconder o rosto queimado dos sertões, quando dera pela proximidade de intrusos. Eles viviam afastados numa cabana, cultivando hortaliças e melões.
Em casa, João Queirós colou-se ao balcão para esconder a camisa ainda encharcada.
O Antunes trocou-lhe uma bóia por uma fisga para a caça aos pardais. Era tão bom nadar! Tão bom essa escapadela a medos e a inibições! E nem o pai nem a mãe chegariam a saber de nada.
Até que... Ia de regresso da lagoa (e nessa tarde já se mantivera à tona de água, sem bóias, apenas com o Antunes a apoiar-lhe o ventre com uma das mãos), quando, por alturas do Clube Recreativo, avistou o pai. O pai, erecto, gigantesco, medonho. Foi levado pelas
orelhas, à vista de todos, sob o riso daquela gente hedionda, que se tornara cúmplice do pai.
A mãe obrigava-o a ir de noite à porta do quintal, lá ao fundo, junto do caramanchão.
- Cagarola, não tens vergonha!
João persignava-se pelo caminho, via os cornos do Diabo em todos os galhos das árvores, estremecia a cada sussurro dos restolhos. À volta corria desvairado, não olhando para trás, temendo identificar aquela presença obscura que o perseguia.
Porque o forçavam àquilo?
A mãe, depois, encostava-lhe a cabeça no regaço e, de mãos macias, catava-lhe as lêndeas.
- Vês, o que dá meteres-te com piolhosos!... Porque o obrigava a mãe àquelas provas de destemor nocturno? A mãe não sabia que poderiam existir coisas, acontecer coisas} Quereria desfazer-se dele, entregando-o a essas sombras em que tudo poderia acoitar-se: fantasmas, lobisomens, gigantes? Contava-se que a mãe, certa vez, fizera frente a uns arruaceiros que se preparavam para lhe assaltar a loja na ausência do chefe da família. Arruaceiros da política, mas, no fundo, refinadíssimos ladrões. Seria então para enrijá-lo, para que ele, mais tarde, fosse um tipo teso, capaz de, como seu pai, ao anoitecer, ir vasculhar os covis da Gândara? Era, com certeza. E João Queirós sonhava então, muitas vezes, que um bando de gatunos lhes assaltavam a casa e que ele os esperava no cimo das escadas, com um martelo na mão. Havia no sonho um pormenor extravagante: os meliantes subiam os primeiros degraus, onde a mãe de João Queirós os aguardava com um alguidar de batatas; e era justamente no momento em que os larápios levavam uma batata à boca que João lhes dava com o martelo. Caíam todos lá no fundo. O sonho era tão insistente e nítido que, de uma das vezes, João Queirós despertou a gritar:
- Já matei cinco, mãe! Não são precisas mais batatas!
Mas esse tirocínio de herói teria, efectivamente, de dar mau resultado. Os companheiros da escola, não se sabia como, descobriram tudo. E, numa das noites, após conferenciarem, atravessaram a horta do regedor e ficaram à espreita por detrás do muro que separava o quintal de João Queirós. No momento azado fizeram subir um lençol branco modelado sobre os braços de um espantalho.
João vinha de olhos no chão. Quando, ao perceber uns rumores, os ergueu para o lado do muro e se lhe deparou, de chofre, o fantasma, sentiu a garganta estrangulada, os músculos percorridos por uma corrente eléctrica. Batia os queixos. O corpo gelara-se-lhe. Quando pôde reagir, desatou a correr, rua abaixo, aos berros:
- A...cudam! Ai, acudam! Ai, minha mãezinha!
- Que foi, meu filho?! Explica-te, João!
- Uma coisa... Eu vi-a... Toda branca... No caramanchão.
E desmaiou no regaço da mãe.
Durante algumas noites, os pais vieram vigiar-lhe o sono. Era um sono turbulento, com terríveis pesadelos. Acordava alagado em suores. Nunca mais dormira bem.
Morto. O caixão branco, do tamanho de um brinquedo. Os gritos da mãe. O rosto enxuto, mas crispado; do pai. João, a um canto da sala, soluçava a morte do
irmão; mas talvez chorasse da mesma forma, contagiado pelo ambiente, se ninguém tivesse morrido ou se tivesse morrido um estranho.
A casa estava atulhada de gente negra e fúnebre. O Dr. Silveira, a mulher, a filha, que as pessoas graúdas do burgo consideravam, com sorrisos cúmplices e aprovadores, a «noiva» de João Queirós. Talvez por isso, evitava encará-la ou falar-lhe. Esse «noivado» sentia-o como uma confusa ameaça à sua liberdade. Mais uma gavinha a prendê-lo ao querer dos outros, ao jugo dos maiores.
Morto. Nunca mais o irmãozito a saltitar no corredor: «Quero ser chofer!» Levara-o uma pneumonia.
O sino badalou como se a vila inteira tivesse morrido e fosse a enterrar naquele caixão branco.
Oito dias sem ir à escola, refugiado na cozinha, a esmolar a companhia, entre todas a menos lúgubre, da criadita de seios pontudos.
Os meses que se seguiram foram os mais cruéis. A mãe como que o culpava do vazio da casa, do silêncio da casa, da dor que a enfrenesiava. Um dia, depois de qualquer tropelia, em vez do castigo esperado, a mãe disse-lhe:
- Antes te fosses tu, moinante, em vez do meu pobre filho.
Filho, era o outro, tinha sido o outro. Ele não. Abandonado, escorraçado. Antes te fosses tu. «Sou a mais nesta casa. Vou fugir! Hei-de fugir!» Escondia-se dos pais, dos amigos, procurava os pinhais desertos. A solidão tornara-se-lhe um hábito e um gosto. Dialogava consigo, divertia-se consigo, construía, a sós, o seu mundo de invenções. Antes te fosses tu. A faca da cozinha. O acaso a esperá-lo. A solidão. Antes te fosses tu. «E serei eu, realmente, filho deles? Não me terão encontrado em qualquer parte, na estrada, num quintal, e toda a gente me encobre a verdade?» Essas dúvidas começavam a ter confirmação: reparava agora nuns risi-nhos equívocos à sua volta. Os risinhos já vinham de longe: ele é que só tardiamente lhes percebia a linguagem. Tentava ainda perscrutar semelhanças físicas com os pais. Inquiria, numa voz escarninha: «Com quem sou eu parecido, mãe? Consigo?» E deixava-a torturar-se com o problema da resposta.
Mas fosse como fosse: era um bastardo naquela casa. Partiria.
Tudo mudou, porém. De um dia para o outro, a mãe mostrou-se inacreditavelmente diferente. Parecia até que esta, ou a outra, lhe eram desconhecidas. Ficava-se muito tempo a abraçá-lo, sem se saber porquê. E perdoava-lhe as faltas. Esta é que é a verdadeira - dizia João Queirós para si próprio. «Ela tem bom coração, gosta de mim!» E agora já não se sentia nem só nem desdenhado, conquanto, por vezes, o envenenasse a suspeita de que a mãe, ao acarinhá-lo, acarinhava o outro, o que morrera, o que enchia os corredores de birras e camiões. João Queirós servia para iludir a morte. Mas para que imaginar coisas? O que importava era ter uma mãe terna e indulgente.
O pai também não era o mesmo. (Mas não era o mesmo em muitos outros aspectos. Parecia-lhe mais taciturno, mais retraído, menos confiante. Qual seria o verdadeiro mundo dos grandes? Qual o seu poder? Quais as suas agruras e prazeres?) Tudo começou numa noite calma, com a voz do mar serenada pelos pinheiros repousados. Era uma voz como sempre longínqua e, nessa noite, mais grave e conformada. De mãos nos bolsos, o lume do cigarro incendiando a treva espessa, o pai disse-lhe, sem mais rodeios:
- Há-des ir para Coimbra. Tens sido um filho obediente.
Quem era esse homem que lhe falava assim? Donde
teria vindo para substituir o outro, o que castigava o ouro até lhe dar formas rendilhadas, o que disciplinava os relógios da parede, o que lhe batia com uma tábua dos caixotes da mercadoria, o que nunca se aproximara das suas dúvidas e alegrias? «Há-des ir para Coimbra.» Teria sido injusto em se sentir, até aí, tão desprezado, tão infeliz?
O relógio e a corrente no dia da partida para o colégio.
No jornal de Cantanhede saíram os seus primeiros versos, um soneto dedicado aos sargaceiros da Gândara. O soneto foi muito comentado; os conterrâneos de João Queirós passaram a admiti-lo, com respeitoso assombro, na lista dos futuros homens ilustres do burgo. Quando chegou a férias, o cumprimento do Dr. Silveira foi, de todos, o mais eloquente:
- Então poeta, hem?... Bravo, rapaz, aquilo era obra fina! Continua, continua, embora devas escolher temas menos revolucionários, hem?, e te devas lembrar sempre que, com versos, não se compram melões... Mas não há dúvida que mereces um abraço!
João trazia o soneto na carteira. Deu-o à mãe, que, de olhos muito abertos, o soletrou várias vezes.
- ...Mas não esqueças o estudo!
No dia dos seus anos, a senhora do médico, acompanhada da Micas, a sua «noiva», trouxe-lhe um embrulhinho misterioso.
- Anda, filha, oferece a tua prenda...
A Micas, muito vermelha, estendeu o pacote sem encarar João Queirós. Ele abriu-o, sôfrego e intrigado. Era um livro. O Almanaque de S. Brás.
A mãe de Micas justificava:
- Para um rapazinho sério como tu, é o presente indicado, não é verdade? A par de conceitos úteis, tem muitas páginas de versos. Quem sabe se alguns deles serão teus, maroto!...
João teve de agradecer; assim lho impunha o olhar expectante da mãe. Mas quando pôde escapar-se da sala, rasgou furiosamente o almanaque, numa raiva que lhe encheu os olhos de lágrimas.
O amor da mãe tornara-se absorvente. Mil cuidados com as constipações, alarmes por tudo e por nada. Assim refreado, assim impedido fosse do que fosse, os companheiros logo o apodaram de «maricas». De uma vez que João ficara preso na cama por um resfriamento sem importância, o Dr. Silveira, já enfastiado com tais esquisitices, desabafou na farmácia:
- Chamaram-me a casa do Queirós. O menino deve ter dado algum espirro.
A criada, ainda a tempo de ouvir, pespegou a graçola nos ouvidos da mãe de João Queirós.
- Ele é isso? Deixa, meu filho, cuidarei eu de ti. E vá de sinapismos e escalda-pés.
Mas nada de fecundo nessa ternura feroz. Que valiam as horas passadas no seu regaço, as noites em que o pai sacrificava a tertúlia para ir de passeio com ele às lagoas ou às dunas? O pai falava-lhe de coisas fabulosas, da guerra, dos seus tempos de embarcadiço, de uma temerária viagem à Argentina; a mãe acarinhava-o, beijando-o com ou sem motivo, mas nada acontecia que o estimulasse a abrir-se, a dividir-se com eles, a tê-los como companheiros. Quando a mãe, por exemplo, o visitava em Coimbra, escondendo num embrulho uma botija para as noites de Inverno, e o seu coração precisava de um desabafo, de um abrigo, reconhecia dolorosamente que todo o amor exaustivo da mãe, ou a expressão desse amor, lhe estorvavam, afinal, qualquer oportunidade de se confiar. E quando, em imaginação,
dialogava com ela, projectando dizer-lhe: «Eu gosto de uma rapariga, mãe. Desejava tanto que a conhecesses! É linda, mãe, e boa como tu», parecia-lhe ouvir a resposta: «Quê?! Um namoro, patife?»
E não chegava a dizer uma palavra.
Do encontro malogrado entre os dois ficava apenas a botija - para as noites de Inverno.
CONTINUAÇÃO DA QUARTA MANHÃ
A carta em cima da mesa de estudo. O sobrescrito rasgado desajeitadamente, os três selos esmolados. Outra vez o pai dos tempos antigos, por detrás do balcão, a tábua castigadora à mão de semear. O pai, seco, alto. O tribunal, a prisão. E também ele, João Queirós, o mesmo dos tempos de escola.
Escovou as calças, arrumou os livros na estante, saiu de casa, taciturno. Chegou cedo à Rua da Sofia. O empregado da empresa das camionetas sondou-o:
- Espera a sua mãezinha?
Aquele também sabia que a sua mãe era a sua mãezinha.
Foi-se recreando a seguir a presteza do engraxador: a escova a sacudir a poeira, depois um naco de tinta, novamente escova, graxa e, por fim, o brilho saltava do embaciado do sapato como um espelho nasce de uma pedra bruta. Para João Queirós aquilo tinha sempre qualquer coisa de prodigioso. Uma vez mais um dedo de graxa, lona, escova. Mas essa última manobra parecia-lhe já excessiva. A volúpia de um artista. Então uma única camada de graxa não bastaria? O Espada à Cinta com muito mais economia de material e de processos, obtinha os mesmos efeitos. E, quando calhava, apenas com o cuspo e a dobra de um lençol.
Como seria o pai do Espada à Cinta} Achara-se algumas vezes a fazer essa pergunta. Talvez barrigudo e sebento. Lia-se na cara do filho. Em contrapartida, imaginava os pais dos outros companheiros de colégio uns sujeitos aprumados, bem vestidos, camisas limpas, um alfinete na gravata. E perfumados. Um perfume que lhes vinha do corpo, do vestuário, da origem. Gente de outra casta. Destestava-os, tanto quanto os invejava.
Um buzinar apressado e a camioneta de Mira especou em frente da Casa Colonial. Um sorriso numa das janelas, dengoso e lamuriento, meio oculto nos cabelos. No rosto da mãe as guedelhas soltas eram inevitáveis.
Quando a mãe o visitava, carregada de cestos, com «coisas que pudessem fortalecer o menino», se ele, por acaso, a avistava no cimo da rua, corria logo a compor o quarto, soprando a poeira mais espessa, alisando a roupa da cama, e tudo o mais que poderia ser remediado em breves minutos; por fim, sentava-se à mesa de estudo, com o coração a galope.
Calculava o tempo que ela demoraria a subir as escadas. Quando a pressentia já a dois passos da porta, sentia-se aterrorizado. Mais tarde roía-o uma funda mágoa de esperar pela mãe como por um esbirro. Mas era ela a culpada desse medo odioso. Porquê? Nem o saberia.
Depois ouvia-se o chamado ofegante da mãe. Ele beijava-a, pedia-lhe «a sua bênção», tirava-lhe os cestos das mãos e aproximava-lhe a cadeira de braços. Tudo com gestos nervosos. Pouco a pouco, serenava, alegrando-se com a visita.
- Ainda está cansada, mãe?
Ela, então, reparava atentamente no filho e, se o visse! de bigode crescido, uma penugem rala que ele avivava com lápis de carvão, admoestava-o:
- Não é para a tua idade! Corta isso. Ele não levava o ralhete a sério.
- Mete respeito, mãe...
Era a altura de ser ele a observar. A mãe - dissera ultimamente o Dr. Silveira - tinha qualquer doença oculta a miná-la. Uma cor de folha amarelecida. Manchas na testa e nas mãos. Ela, alerta, reparava imediatamente na inspecção. E, numa voz mimalha e trágica, obrigava-o a esmiuçar receios, como se gozasse com essa atmosfera de infortúnio.
- Achas-me magra?
- Nada disso. Tem uma cor magnífica!
- É da febre.
- Lá está a mãe a fantasiar.
- Pois é. Eu sei que não viverei muito mais. Vais ficar sem mãe, Joãozinho.
- Cale-se, mãezinha, por favor!
Ela baixava a cabeça e os olhos orvalhavam-se.
João Queirós raramente perguntava pelo pai. Sabia quanto a mãe era ciumenta do amor dele, quanto se desgostaria de saber os seus cuidados repartidos por mais alguém. Só a mãe tinha o direito de perguntar, fosse qual fosse o objecto da sua curiosidade. E indagava sobre muitas coisas, ameaçadoramente.
- Tens estudado mais do que dantes? E os companheiros, filho? Onde perdes as noites?
Ele, então, imitava aquele ar sofredor e injuriado da mãe. Respondia com resmungos.
Vinham depois as novidades de Febres. Ela relatava-lhe, espontaneamente, e às vezes com um humor que o deliciava, os acontecimentos pitorescos da vila. A Arminda teimava com a ridícula paixão pelo merceeiro (era uma cegueira, havia ali feitiço), encontrava-se muita caça na Lagoa do Peralta, o farmacêutico despedira a cozinheira (depois de tantos anos de mancebia, credo!), a Micas tinha de ser operada às amígdalas («devias escrever-lhe de quando em quando, João; é de boas famílias e ajuizada»).
Por fim, inevitáveis, lá vinham as desgraças. A mãe não as dispensava. A sua voz, ao pormenorizá-las, era outra. (Teria a mãe, efectivamente, prazer na infelicidade?) O azeite perdera-se, o granizo despira as árvores; não se vendia um cordão desde a Páscoa; miséria por toda a parte. Que não se julgasse rico, nunca se deveria fiar no que estava para vir. Nem sabia mesmo se ele poderia continuar a estudar. Tanto sacrifício por sua causa!
- E os filhos nem sempre merecem que os pais se escravizem por eles.
João Queirós ficava sorumbático, agastado. Não pelas desgraças, que sabia exageradas, mas por aquele sa-dismo da mãe em não lhas ocultar. E sentia, então, um faminto desejo de lhe dizer: «Mãe, então não vês que isso não é amor? Os sacrifícios que dizes fazer por mim não os deverias repetir a todo o momento? Eu é que os devia adivinhar e, então, agradecer-tos-ia. Assim, como queres que fique grato às provas do teu amor se as exibes como um charlatão?»
Era o que desejaria dizer-lhe. Toda a sua reacção, toda a sua mágoa, se exprimiam, porém, numa frase ressentida:
- Prefiro não continuar a estudar. Procurarei outra vida.
A mãe insistia, raspando no fundo da adversidade:
- Não sei... não sei...
João Queirós ainda argumentava para si próprio: «Ela fere-me, ela massacra-me apenas na intenção de me estimular ao trabalho. É o seu feitio, dizer as coisas daquele modo. É apenas o seu feitio. O mundo, para ela, sonhos e pesares, é o seu amor por mim. Só eu lhe resto. O outro morreu. É verdade: o outro! Não era de mim que ela gostava.»
- Não sei... não sei...
A frase sinuosa, carregada de ameaças, dava-lhe uma evidente satisfação.
«Que pretende ela de mim? Para que se sacrifica} Para me encafuar em Febres. Há muito que me traçou o destino, a seu bel-prazer: um doutor em casa, impondo, com a sua situação social, a respeitabilidade da família. Continuarei a ser o seu menino obediente. Quando, ao entardecer, der o passeio habitual, apoiada no braço de meu pai, pela rua aristocrática de Febres, será cumprimentada como a mãe do «Sr. Doutor». Não há muitos doutores em Febres. É o que ela deseja. A minha vida, a minha, nada lhe importa. O que lhe importa é que eu continue a ser um dos comparsas do seu orgulho.»
Mas esses protestos sem voz quebravam-se de encontro a qualquer coisa sólida, cega, inabalável, que se traduzia numa fácil ternura. Estava sempre à procura de um pretexto de íntima reconciliação com a mãe, do que quer que fosse que o valorizasse a seus olhos. Às vezes, mostrava-lhe alguma página de um jornal onde se publicavam os seus versos. Um jornal era um jornal! Ninguém em Febres se poderia gabar de tal notoriedade.
- Vês, mãe? Mais versos. Agora já mos aceitam quase todos.
- Mas para que serve isso? Não te renderia muito mais o apego ao estudo?
No entanto, os olhos dela, por vezes, negavam esse desinteresse das palavras, velando-se de prazer. Era o seu filho, aquele, o do nome impresso nos jornais! O filho de uma pobre mulher.
Quando ele, então, incitado, lhe lia um poema que acabara de escrever («temos hoje diarreia», dizia o Pe-drinho, nesses dias em que a inspiração lhe chegava caótica, urgente, irreprimível), a mãe, sorrindo com uma indulgência desbotada, inquiria:
- Tu pensas realmente essas coisas todas?...
- Sei lá... Vêm-me à cabeça. Por vezes sinto-as sem chegar a percebê-las muito bem.
A mãe olhava-o, suspeitosa. Encaravam-se, então, como duas pessoas que, depois de muitos anos de convívio, reconhecem que falta tudo para dizer. Era a mãe a desfazer esse silêncio embaraçoso.
- Que te parece o meu vestido novo?
- Bonito. Muito chique.
- De verdade?
Como ela era criança em muitas das suas manifestações!
E como ele se sentia feliz em verificá-lo!
- Está bem feito.
- Mas vê lá... Se achas que deve ter alguma emenda, volto com ele à Clotilde...
- Fez-se muito vaidosa!
A criada da pensão interrompia-os, a anunciar o almoço.
- Anda, vai. Come devagar!
Ele descia as escadas, reparava se havia correspondência no bengaleiro e preparava-se para almoçar num ápice: sabia que, enquanto se ausentava do quarto, a dona da pensão faria companhia à mãe. De todas as vezes temia que, nesse diálogo, se escapassem algumas inconfidências sobre a sua vida com os colegas. Noitadas, devaneios. Por isso, quando, já almoçado, subia as escadas, procurava não ser pressentido, a fim de ouvir alguma frase que o advertisse do tema da conversa. Às vezes, ficava uns minutos de ouvido alerta, ansioso. Acabou por não se ralar tanto com essas conferências, verificando que a dona da casa, decerto para não perder o hóspede, o gabava sempre.
Quando o governo da pensão, àquela hora, não permitia que a patroa o substituísse junto da mãe, nem por isso ficava menos inquieto: imaginava a mãe a rebuscar-lhe as gavetas, a descobrir indícios terríveis da sua libertinagem.
Pela tarde, saíam a passear. A mãe entrava em todas as lojas, demorava-se irritantemente diante das montras das ourivesarias. «O teu pai fazia melhor. Se ele me tivesse dado ouvidos!... Estaríamos agora aqui contigo, na cidade, todos juntos, com um bom comércio. Mas o teu pai é um casmurro.»
Se a mãe lhe percebia a tentação por algum dos artigos expostos, via-se o seu júbilo em satisfazê-la. Mas não deixava de lhe frenar, desagradavelmente, o entusiasmo:
- Não o uses muito. Poupa, filho, poupa. Sempre uma sombra premeditada e verruminosa nas suas alegrias.
Acabavam por se sentar perto da gare do caminho-de-ferro, num banco recolhido, esperando a hora da camioneta. Ela olhava as flores dos canteiros, cobiçando-as (prazer, nela, era cobiça); ele olhava o rio, o deslizar brando e fatigado das águas, sugestão de imensidades, aventuras. A mãe buscava um último motivo de tormento, de dúvida, de insinuação.
- Tens perdido noites?
Quando se aproximavam as cinco horas, levantavam-se do banco. Nessa altura, João Queirós já estava impaciente por que ela se fosse, por largar encosta acima, à procura dos amigos, por fazer qualquer espécie de irreverência.
A mãe dava-lhe algum dinheiro, com a mão quase fechada, como se evitasse até ao derradeiro momento esse desperdício, e, a finalizar, recomendava:
- Manda dizer a como está o ouro por cá. Quando João Queirós chegava à pensão, a patroa,
se o via, indagava:
- Já tirou o correio do bengaleiro? Não o levei para cima com receio de que sua mãe desconfiasse de alguma coisa...
- Desconfiar de quê?
- Sei lá... De algum namoro...
- E depois? Que têm os outros com isso?
Era o menino. Todos sabiam que a mãe dispunha dos seus desejos, dos seus sentimentos. A mãe a medir-lhe os passos.
Mordia os lábios para não responder uns palavrões. Galgava as escadas para não chorar ou gritar diante da dona da pensão.
Ao jantar, quando ele aparecia de bigode rapado, era uma surriada dos diabos.
- Ordens da mãezinha, hem?...
- Vocês não compreendem porque ela não me quer ver com o bigode crescido, vocês não percebem que...
Os risos abafavam-lhe as justificações. Uns brutos. Não compreendiam nada. Ou, se compreendiam, a maldade não os deixava ser simples, tolerantes, sinceros.
QUINTA MANHÃ
Domingo.
Um casaco cinzento-escuro, sem aprumo; uns sapatos rasos, comprados nas tendas da beira-rio. Florinda vem da mercearia. O pescoço esguio dobrado para a frente, o cabelo liso sem uma onda que o embeleze.
João, pela primeira vez, sente-se desagradavelmente impressionado com o aspecto pobre do casaco domingueiro, com o ar desajeitado de quem o vestiu. Evidencia-se-lhe, mais do que até aí, a imensa distância entre ele e essa Florinda de sonhos esfomeados como os seus. Os sonhos são, talvez, os mesmos; os caminhos é que divergem. Florinda nunca poderá ser o seu ponto de chegada. E o casaco desbotado, o pescoço quebradiço, o rosto macilento, fazem-lhe reavivar, por contraste, a lembrança de Celeste. Existe ainda a Celeste, nada de esquecer! (Como pôde a sua dor atenuar-se em tão breves horas!) É domingo e Celeste deve ir a caminho da missa, o vestido justo, de boa fazenda. O cabelo ondeado, os olhos em amêndoa.
João Queirós foge da janela, do casaco cinzento. Antes perder noites de angústia, assistidas pelo Pedro, receber cartas do pai com três selos de pedinte. (Ele acabará por não ler essas cartas, garante a si próprio.) Um companheiro da pensão deixara uns apontamentos esquecidos na sua secretária. Pega numa e noutra folha, distraído, ausente dos gestos. «Sucessão testamentária... Distinção entre herdeiros e legatários...» Que mundo era esse, dos livros, das folhas, da Universidade? Nada tinha que ver com a vida, com os anseios, com as pessoas. Que eram os mestres, lá muito ao longe, do outro lado, esfíngicos? Quando lhe seria permitido viver, viver a sua vida, errar e acertar, ser feliz ou infeliz sem esse jogo de escondidas? «Sucessão testamentária...» Palavras, logros. O pai de João Queirós também planeara para o filho uma carreira de advogado. Advogado ou qualquer coisa que se pudesse exercer em Febres. O menino vigiado pela família. O menino obediente.
Sentia-se sufocado, mas nada sabia ou conseguia fazer para se libertar dessa sufocação.
Casaco cinzento. Uma mulher que espera o seu dia de ternura. A mulher que pressentiu tudo o que existe em João Queirós para dar e receber. Ele poderá ser, para essa rapariguinha sedenta e expectante, o príncipe maravilhoso, o oásis de ternura. «Lá vem a Nau Catri-neta...» Como ele decorava tão facilmente todos os versos que lhe vinham à mão! Às vezes a poesia era uma atmosfera envolvente, capciosa, o ar que se respirava.
Florinda. Que diria o presidente dos ourives de Febres se ele lhe entrasse portas adentro com a rapariga do casaco cinzento? Que diria a mãe da Micas? E a Celeste? Todos o achariam um traidor. Sabe-se dependente de todos. Fechado num casulo de fórmulas. Ninguém quer saber do rio de sede que, dentro dele, é preciso apaziguar. Não é um ser humano: é uma coisa à mercê dos outros, das imposições e das convenções dos outros. Como Florinda. Os outros também exigem que ela fique no seu lugar; que seja pobre, desiludida, infeliz, que os sonhos a queimem como uma luz que se devora a si própria.
- Até quando? - A pergunta soltou-se como uma ave espavorida.
Acomete-o, de súbito, uma fúria de libertação, de chegar à janela e gritar por Florinda, de partirem juntos. De fugirem juntos.
«Manda dizer a como está o ouro por cá.» Quem falou? Quem o retém nos sargaços? «Mas hoje é domingo, mãe; não há ninguém nas lojas para me dizer se o ouro baixou.»
«Então não te esqueças de mo saberes amanhã.»
João Queirós, no dia seguinte, irá às lojas averiguar. É um filho obediente.
Fernando Namora
O melhor da literatura para todos os gostos e idades
















