



Casimiro de Abreu




A 13 de novembro de 1853, encostado pensativo ao mastro de ré do vapor Olinda, transpunha a barra do Rio de Janeiro em demanda das costas de Portugal. Com que dor tinha os olhos fitos naquelas paisagens soberbas que pareciam apagar-se pela distância! Quando deixei de ver as vagas enroladas baterem nos rochedos; quando as montanhas que sé desenhavam ao longe, sumiram-se no horizonte, o pranto correu-me pelas faces, como nunca havia corrido. Eu chorava deveras como hoje suspiro saudoso, porque era a pátria que eu deixava; a terra onde nasci; porque lá ficava meu pai e minha mãe, meus irmãos, tudo que de mais caro tinha no mundo!
Ai! é triste e solene esse momento cruel. Vagando na amplidão dos mares, alongando saudoso a vista e os olhos só veem o azul do céu confundir-se ao longe com o azul das vagas! Os joelhos trêmulos, dobram-se; os lábios ardentes de desespero murmuram meu Deus! minha pátria! minha mãe! o pranto corre livre e o peito arqueja e cansa.
E todas as noites quando pelo postigo do meu beliche via o firmamento salpicado de estrelas, soltava um suspiro. Quando no outro dia contemplava o sol no ocaso, dourando com seus raios moribundos as nuvens acasteladas no poente, suspirava também! Quisera ver esse mesmo céu estreitado nas lindas noites da minha terra, quando os raios da lua brincam com as flores do prado e adormecem nas águas quietas do rio. Quisera ver o astro do dia em vez de se mergulhar nas vagas, esconder-se por traz das colunas, refletindo seus pálidos e últimos fulgores na cúpula elevada do campanário da aldeia. Quisera ver tudo isso... e a pátria já estava tão longe!...
Depois, mais alguns dias de balancear monótono sobre as águas, e pisei terra estranha. Era este Portugal velho e caduco que hoje dorme um sono longo à sombra dos louros que ganhou outrora; era este Portugal que ainda repercute o tinir das armaduras e das espadas de seus guerreiros extintos; era este Portugal que ainda repete as doces harmonias exaladas de tantas liras sonoras; era este Portugal, pátria de meus avós, mas não minha pátria. Aqui fala-se a mesma língua que se fala no Brasil; aqui também há sol, há lua, há aves, há rios, há flores, há céu, mas o oi da minha terra é mais ardente, a lua mais suave, o canto das aves é mais terno, os rios são mais soberbos, as flores têm mais perfumes, o céu tem mais poesia.
Já dois anos se passaram longe da pátria. Dois anos! Diria dois séculos. E durante este tempo tenho contado os dias e as horas pelas bagas do pranto que tenho chorado. Tenha embora Lisboa os seus mil e um atrativos, ó eu quero a minha terra; quero respirar o ar natal, o ar embalsamado daquelas campinas ridentes; quero aspirar o perfume que exalam aqueles bosques floridos. Nada há que valha a terra natal. Tirai o índio do seu ninho e apresentai-o de improviso em Paris: será por um momento fascinado diante dessas ruas, dessas praças, desses templos, desses mármores; mas depois falam-lhe ao coração as lembranças da pátria, e trocará de bom grado ruas, praças, templos, mármores, pelos campos da sua terra, pela sua choupana na encosta do monte, pelos murmúrios das florestas, pelo correr dos seus rios. Arrancai a planta dos climas-tropicais e plantaia na Europa: ela tentará reverdecer, mas cedo pende e murcha, porque lhe falia o ar natal, o ar que lhe dá vida e vigor. Como o índio, prefiro a Portugal e ao mundo inteiro, o meu Brasil, rico, majestoso, poético, sublime. Como a planta dos trópicos, os climas da Europa infezam-me a existência, que sinto fugir no meio dos tormentos da saudade.
Feliz aquele que nunca se separou da pátria! Feliz aquele que morre debaixo do mesmo céu que o viu nascer! Feliz aquele que pode receber todos os dias a bênção e os afagos maternos! Mil vezes feliz, por que não sente esta dor que me arranca do peito as lágrimas ardentes que me escaldam as faces. Mas eu conservo ainda a esperança, esse anjo lindo que nos sorri de longe. É quem deixará de ter esperanças? Só o desgraçado, que, crestada a fronte pelo hálito maldito das tempestades da vida, solta em um dia de desespero a blasfêmia atroz: não creio em Deus!... Só esse.
Eu, não. Estou na idade das ilusões; arde-me no peito o fogo dos meus dezessete anos; creio em Deus do fundo da minha alma, como o justo crê na recompensa divina. Sim, um dia verei a minha pátria, os meus únicos amores; um dia entre prantos e soluços abraçarei minha mãe; um dia... à sombra triste da funérea cruz descansarei na mesma terra que me viu nascer. Deus é justo. O dia em que devo sentir uma nova vida, chegará. Esperemos.
No dia 18 de janeiro representou-se no teatro de D. Fernando a cena dramática “Camões e o Jau” primeira composição minha, ao menos a primeira que passou da pasta dos meus acanhados ensaios ao domínio da crítica. Ninguém é mais do que eu, cônscio dos inúmeros defeitos que tem. Bem se vê que essas notas são tiradas pelas mãos trêmulas de um novato, na mais humilde e desconhecida lira. No entanto foi recebida no meio dos bravos e aplausos.
Mas esses aplausos e esses bravos, compreendi-os bem. Não eram a coroa de louros que me lançaram, coroando o mérito da peça. Não. Eram as vozes de um povo amigo e hospitaleiro, que bradavam — “avante!” ao jovem que uma carreira das letras encetava o seu primeiro passo.
Obrigado, mil vezes obrigado. Dissestes: avante? Bem; eu tentarei prosseguir o trilho. Maldito o que espezinha sem piedade a flor que tenta desabrochar! Aos dois atores que a desempenharam tão bem, renovo os meus agradecimentos. São o sr. Braz Martins e o sr. Santos.
O sr. Braz Martins tem a sua reputação feita como escritor e como ator; não carece dos meus elogios. Só lhe podem negar o mérito literário e artístico, almas baixas movidas por paixões mesquinhas. Demais, digo-o aqui com franqueza, cabe-lhe dupla glória: foi ele quem me deu o pensamento da cena dramática. O sr. Santos é um jovem de bastante mérito, para quem o futuro sorri auspicioso. Um dia, nessa carreira de espinhos, há de ter a fronte coroada de flores.
Agora, ofereço esta minha produção a duas pessoas, ambas no Brasil. É ao meu antigo lente e amigo o ilustríssimo senhor Cristóvão Vieira de Freitas, e ao meu amigo e colega Cristóvão Corrêa de Castro, que segue o curso de direito na academia de São Paulo.
Ao primeiro, peço que quando ler o “Camões e o Jau” vá riscando e emendando com o lápis os muitos versos duros que lhe ferirem os ouvidos. As suas emendas são regras para mim.
Ao segundo, que foi meu companheiro de estudos durante quatro anos no Instituto “Freese,” rogo de me recomendar a todos os colegas desse tempo tão feliz. Quando nos separamos em Nova Friburgo, de certo não foi para sempre. Ainda um dia hei de ouvir o canto melodioso e terno do Sabiá; ainda um dia nos veremos.
Lisboa, 27 de Março de 1856. CASIMIRO ABREU
#
#
#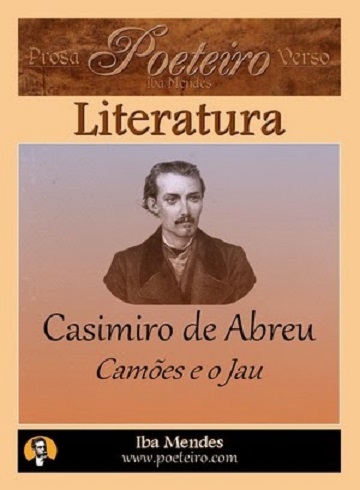
#
#
#
PERSONAGENS: CAMÕES ANTÔNIO
CENA ÚNICA Camões e depois Antônio.
(A cena representa uma casa pobre; ao fundo uma porta, do lado direito uma janela e um braseiro – em distância, do lado esquerdo, uma cama ordinária e uma cadeira; junto ao braseiro uma banca pejada de manuscritos. São dez horas da manhã. Ao levantar do pano, ouve-se o ribombar longínquo do canhão. O poeta, deitado, recolhe atento aqueles sons, que pouco a pouco se esvaecem; depois; assenta-se)
CAMÕES Que sons são estes que do Tejo a brisa Trazer me vem no sussurrar macio? Julguei ouvir o rufo dos tambores, Ou o estridor pelo eco repetido De brônzeas bocas a rugir nas vagas. (Erguendo-se) Ribombo do canhão! sinal de glória Pras sempre fortes vencedoras Quinas Impávidas hasteadas nas muralhas Das fortalezas índicas vaidosas, E tremulando na soidão dos mares, Que ao jugo lusitano a cerviz curvam! Trombeta do combate; quando soas, Bater tu fazes com dobrada força, Com fogo etéreo coração ardente Que em peito português livre palpita. (Com entusiasmo) Meu Portugal tão belo e tão valente!
Torrão formoso, terra de magia, Riscos sonhos do poeta, meus amores! Sim, meus amores, porque os que tive outrora… Cala-te coração… já não existem! (Caminhando com custo para a janela) De primavera, que formoso dia! Que azul de céu tão sereno! Como corre o meu Tejo, que cantei saudoso No exílio amargo tantos anos… tantos! (Comovido) Oh, quantas vezes de Macau na gruta Por ti, por Portugal eu soluçava! (Retirando-se da janela) Para que me hei de recordar do exílio? (Assentando-se da cadeira) Passado é já. Vejamos o futuro (Curva a fronte)
ANTÔNIO (entrando e aproximando-se de manso – à parte) Como está pensativo! sempre triste!
CAMÕES Quem entra do mendigo na choupana? (Reparando) É Jaú, meu pobre, meu sincero amigo.
ANTÔNIO (à parte) Chamar-me amigo! a mim, ao próprio escravo! Escravo… que os grilhões contente beija!
CAMÕES Antônio, para mim não trazes nada?
ANTÔNIO Foi buscar pão… nem um ceitil me deram!
CAMÕES Resignação e fé, que Deus é justo.
ANTÔNIO Resignação, dizeis! Mas ah! que tendes? Tão pálido vos vejo e tão mudado! Depois que vos deixei sofrestes muito?
CAMÕES Meu amigo, sossega, nada tenho.
ANTÔNIO (à parte) E tornou-me a chamar o seu amigo! Igual afeto, quem pagá-lo pode?
CAMÕES Dizes que tenho a palidez no rosto? Não repares; a cor fugiu há muito. Eu sofro, sim, mas quase que o não sinto. É a vida a soltar o arranco extremo Já prestes a findar, como no templo À míngua? óleo, ao despontar da aurora, A lâmpada que ardeu durante a noite Pálida brilha, bruxuleia… e morre!
ANTÔNIO Por Deus vos peço, não faleis em morte.
CAMÕES Se eu a sinto chegar a passos largos! Muito não tardará que o corpo inerte Vá sob a terra descansar pra sempre. Uma existência cheia de desgostos, As mais douradas ilusões desfeitas, Findos os sonhos, a esperança extinta… Oh! de que vale o prolongar-se a vida? Sim, brevemente cerrarei os olhos, Morrerei pobre, velho, desprezado…
Com um amigo só, que és tu, Antônio.
ANTÔNIO (caindo-lhe aos pés) Oh! meu senhor!
CAMÕES Terei um peito ao menos Onde então possa reclinar a fronte, Uma lágrima derramar saudosa, E dizer expirando o nome dela! (Erguendo com doçura a cabeça do Jaú) Antônio, diz-me cá; tu nunca amaste?
ANTÔNIO (erguendo-se) Se tenho um coração!… Eu amo muito A terra onde nasci, a minha Java: A meus pais eu amei como bom filho E a vós, ó meu senhor, hei de amar sempre.
CAMÕES Na tua vida uma mulher não houve Que igual afeto te inspirasse ainda? Por quem sentisses atração imensa? Em que louco pensasses, sempre, sempre; Mesmo dormindo, em sonhos bem fagueiros? Uma mulher, enfim, por quem no peito Forte paixão te ardesse ou um desejo? Uma mulher, um anjo, cujo nome O tivesses nos lábios e na mente; Escrito o visses na corrente branda Que sobre seixos se desliza quieta, Num céu de anil, na flor do prado, em tudo? Que te dissesse a brisa perfumada Lasciva perpassando pelas flores, O murmurar da fonte cristalina, No firmamento o cintilar dos lumes, Que o mundo inteiro te falasse dela?
Um anjo, a quem no delirar ardente Aos pés prostrado – amor! – dissesses terno?
ANTÔNIO Sim, sim; uma mulher eu amei muito. Era tão bela! A mesma cor que tenho, Ela tinha também; era de Java. A infância ambos passamos sempre juntos Brincando alegres pelos campos lindos. Passaram-se os folguedos, e sozinhos À fresca sombra dos gentis palmares Que enfeitam a minha ilha tão formosa, Mil falas de ternura lhe falava, Mil esperanças risonhas eu nutria. Era muito feliz o pobre escravo! Depois… tão moça ela ainda finou-se! O que eu chorei! E a dor pungente e amarga Até à morte sentirei nesta alma Que outro amor como aquele tão sincero… Senhor, o pobre Jaú não terá nunca.
CAMÕES Pois escuta: eu amava com excesso Na terra uma mulher muito formosa Que a sorte cega colocou mui alta. Mas o pobre Camões não tinha um nome, Não podia oferecer-lhe a mão de esposo! Ai, loucos! porventura um sentimento Quereis moldá-lo a conveniências fúteis? Quem é que ao coração jamais deu regras? Sem demora parti, buscando a glória. Longos anos vaguei saudoso e errante, Ora embalado pelos bravas ondas Do oceano em fúria grande, ouvindo os uivos Da procela a bramir forte e medonha; Ora chorando os prantos do proscrito Nos ermos montes de longínquas plagas.
Que saudades que eu tinha desta terra, Destas veigas risonhas, destas fontes, Destas flores mimosas, destes ares! Nunca naquelas regiões tristonhas O riso do prazer me veio aos lábios. Em vão eu quis beber uma harmonia, Uma inspiração celeste, radiante! Lá não trinava o rouxinol gorjeios Na balseira virente em noite bela, Quando a lua prateada se retrata Sobre as águas do lago sossegado; Lá não ouvia a gemebunda rola Gemer saudosa… que entristece tanto! Lá não sentia a vespertina aragem Vir bem de manso bafejar-me a lira, Que nunca mais soltara hino festivo! Tudo ali respirava só tristeza! E durante esses anos tão compridos, Esses anos de ausência e de tormentos, A imagem de Natércia eu via sempre, Uma vez que tranquilo adormecera, De súbito me ergui todo convulso… Sonho horrível me havia despertado. Sonhei-a fria, já sem vida… morta! Aquele corpo airoso, inanimado! Aqueles lindos olhos já sem brilho! Os lábios purpurinos já cerrados, Que no entreabrir final balbuciaram Camões! Camões! ainda com ternura! Vacilante os cabelos apartava Com a trêmula mão da fronte em gelo… Visão não era; realidade pura! Era morta a mulher que eu tanto amava, Morta… na flor da vida!… ela era um anjo!… Desde esse dia então morri pro mundo. As lágrimas de dor verti-as todas. Depois… não chorei mais, sofria mudo,
De rojo junto à cruz, contrito orava. Orava toda a noite só por ela. A Deus pedia o termo de meus dias, Que entre os anjos no vê-la queria. Já que na terra os homens, sem piedade, Me haviam dela separado sempre. Mas o eterno não quis. Curvei a fronte. Quereis que esgote o cálix da amargura? Submisso e pronto está o servo humilde. (Apontando para a banca) Olha, Antônio, dá-me aqueles versos. (Recebendo-os) Sim, são estes que falam de Natércia Com todo o fogo dum amor eterno. Eis o sinal das lágrimas caídas Sobre o papel, quando tracei as linhas. Lágrimas quentes, lágrimas de sangue Arrancadas por uma dor imensa. (Beijando-os) Oh! quero lê-los, lê-los novamente. Foi este canto lutuoso e triste Último harpejo que soltei gemendo. Ai! quando desse dia me recordo, Involuntário o pranto se desprende. É uma corda que se vai da lira, Mais uma fibra que do peito estala, Mais um gemido que rebenta d’alma, – Derradeiro estertor do agonizante – Um gemido que diz: além a – campa! (Assenta-se e lê) “Alma minha gentil que te partiste Tão cedo deste mundo descontente; Repousa lá no céu eternamente, E viva eu cá na terra sempre triste.”
ANTÔNIO (à parte) Ali naquele leito tão mesquinho
Repousa o maior vate deste mundo! Pro sepulcro inclinada a fronte nobre Quase a sumir-se como o sol no ocaso, Um ai não solta, nem um só que seja! Calado sofre, sofre, e não murmura! Só eu e que conheço o que padece: Com fome há tantas horas, e não tenho Em casa nada que lhe dê agora! Se pudesse passar sem mim ao lado… Se pudesse! inda sou rapaz, sou forte, De noite e dia trabalhava sempre E do sempre o lucro era pra ele, Era só pra Camões. Mas eu não posso, Não posso abandoná-lo um só momento. Tão fraco; até lhe custa a dar um passo! Eu vou de porta em porta, a mão estendo, Peço pão, não para mim, mas pro poeta… E só parece que a rochedos falo, Ninguém atende à súplica do pobre! De dor eu choro quando peço esmola E vejo que me negam tão sem alma. Filhos de Portugal, ó portugueses! Viveis entregues aos festins malditos Sem vos lembrar que na miséria triste Enfermo geme, moribundo quase, Um português também, um vate ilustre? Ah! sois malvados corações de pedra! Sim, sois malvados! O perdão do poeta, De certo o tendes, porque é bom, perdoa; Mas dos séculos futuros, com justiça, Anátema tereis e fulminante, Da infâmia o ferrete desprezível, E a voz de Deus vos bradará severa: “Assassinos, assassinaste o vate!”
(Ouvem-se salvas repetidas, ao longe)
CAMÕES Antônio?
ANTÔNIO Senhor!
CAMÕES Saberás dizer-me Por que em sinal festivo o canhão troa?
ANTÔNIO É a saudação banal das fortalezas Ao rei, à esquadra, que transpõem a barra; E que entregues aos ventos inconstantes Destemidos se vão plantar ousados O estandarte da cruz em terras d’África.
CAMÕES (erguendo-se, agitado) Sim, eles vão… mas é buscar a morte. Quem antevera que dum povo a ruína Pelo seu próprio rei cavada fosse? Oh campas nobres, já no pó envoltas, De Nuno, d’Albuquerque e de Pacheco: Descerrai-vos, surgi. Que esses gigantes, Patriotas bravos, semideuses lusos, Erguendo-se do sono eterno um pouco, Depressa venham sustentar a pátria Que ameaça cair, cair pra sempre. (Caminhando para janela e falando para fora) Dom Sebastião, monarca temerário, Parai! parai! que não ireis, mancebo, Sepultar nas areias africanas, De tantos séculos, num só dia a obra. Se não ouvis meu brando, por ser fraco, Oh! escutai, senhor, o pranto amargo Do pai, da mãe, da esposa e do filhinho Que vos pedem o filho, o pai, o esposo,
Que sem dó arrancais dos lares pátrios Pra sepulcro lhes dar em terra estranha. Mas ah! sois surdo; vossas naus já partem, O Tejo deixam… no horizonte somem-se… (Retirando-se da janela e como que subitamente inspirado) Que luz celeste me esclarece agora? Que sombras estas que vagueiam tristes, Que se deslizam silenciosas, quietas, Fantasmas negros na mudez da noite?!… Que campo é esse que se alaga em sangue, Teatro horrível onde impera a morte?!… Oh d’Alcácer-Quibir plaga maldita, Que presencias num só dia a queda Da nação entre todas a mais nobre! Ah! vergonha pras armas portuguesas! No calor da peleja que se trava, Parte-se a folha da ligeira espada E o alfanje, como anjo de extermínio, Prostra exangues, sem dó, esses valentes Que em cem batalhas não tremeram nunca! Os soldados de Cristo já recuam Pelas inimigas hostes esmagados, O régio elmo pelo campo rola… Calcada está de Portugal a coroa, Nosso pendão caiu… quebra-se o cetro… E Dom Sebastião ousado e jovem Ei-lo que tomba do ginete altivo Com vida ainda, pra não mais erguer-se! Ele, nobre dos nobres lusitanos, Ao lado do peão lá geme, expira! – A morte nivelou o trono e a choça! Mas que ouço?! Estes cânticos selvagens… Este alarido e gritos de vitória… De um triunfo infeliz os solta um povo! As mauras meias-luas já tremulam Dos cristões sobre as tendas tão vaidosas; Lá ressoa o clarim cantando um hino
Que contentes os ecos o repetem Pelo negror das trevas que caminham A cobrir com o sudário da vergonha A púrpura real, dum rei o corpo! Ouve-se ainda um brado… extinto é tudo! A glória e o nome português morreram! E este tinir de ferros?! São algemas, São grilhões que nos vem lançar Castela!! Termos de suportar estranho jugo… Sofrer da escravidão a morte lenta… Um nobre português responde – nunca!
ANTÔNIO (à parte) A febre do delírio que o devora!
CAMÕES Eu à pátria sobreviver! Não quero. Quem deste Portugal cantou as glórias Não pode a Portugal na mesma lira Desferir canto fúnebre saudoso. Se a pátria é morta, hei de morrer com ela. Hei de sim, hei de sim, porque nesta alma Era o afeto maior que ora existia. Oh! que a mesma mortalha nos envolva; E o canto d’alma apaixonado e terno, Em que humilde exaltei a fama tua, Que as chamas consumam; que hoje mesmo, De Luís de Camões não tenha o mundo Nem sequer uma prova de seus dias… Bem poucos de prazer, de dor bastantes! Queimem-se todos, queimem-se esses versos, Desta alma parte, que escrevi mil vezes Com pranto amargo deslizando em bagas. Eia, coragem! (Lança ao fogo alguns manuscritos e vai buscar os Lusíadas)
ANTÔNIO Os Lusíadas nunca! Por quem sois, suspendei! sou que o peço: Que não se queima assim num só momento Dum poeta imortal a rica coroa, E o mais nobre brasão dum povo inteiro. Oh! vou salvá-los. (Corre para Camões)
CAMÕES (lançando-os às chamas) Jaú, nem mais um passo.
ANTÔNIO (tirando-os) Ei-lo, o laurel dum vate!
CAMÕES Que fizeste?!…
ANTÔNIO (erguendo o poema) Se é verdade que tua pátria é morta, Este poema lembrará ao mundo Que houve outrora um Portugal gigante E – Camões – fora seu cantor sublime.
Casimiro de Abreu
O melhor da literatura para todos os gostos e idades

















