



Biblio VT




O frio desembrulhara-se todo como uma cortina de gelo esfiapado a contorcer-se no vento da noite.
Por sua vez a noite caminhara pelas longínquas estrelas do céu, indiferente à solidão e tristeza do homem.
E o homem, embuçado na sua pequenez, enrolado nas velhas cobertas umedecidas de orvalho, quase se precipitava dentro da pequenina coivara, para tremer um pouco menos.
Noite de fim de maio, de começo de verão na selva, esfriara tanto que já agora o nascer da madrugada afastara todas as aves, e se por acaso aparecia um grito, este vinha entrecortado de angústia e desconforto.
Frei Abóbora remexeu-se, encolhendo-se todo no velho cobertor. Que Deus amanhecesse logo a vida e trouxesse os dourados galhos de sol para aquecer as esperanças. Nem conseguia dormir. Desconsolado, olhou as estrelas congeladas sondando o tempo que ainda restava para amanhecer. Sorriu meio desesperado. Faltava muito. Talvez estivesse ficando velho mesmo. Ou talvez, o corpo enfraquecido pela grande temporada que passara no Xingu, tão cheio de necessidades, tão cercado de distância, tão alimentado de fome... reclamasse com razão um estaleiro.
Felizmente deveria remar um dia e uma noite no máximo, para alcançar o avião da FAB que o levaria até o posto de Santa Isabel. Lá, como sempre, penalizados com a sua magreza, deixariam que descansasse pelo menos quinze dias. Os velhos índios, os amigos que criara, viriam na certa cercá-lo de carinhos; e em troca desses carinhos fariam uma porção de encomendas. Quando Frei Abóbora aparecia, era porque estava voltando para a cidade.
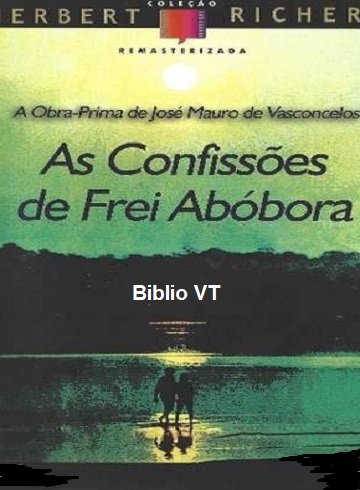
Sorriu e cochilou. Apesar de tudo, a vida tinha pequenas lâminas de ternura que cortavam menos doloridamente a condenação de ser vivo.
Bocejou, entreabriu os olhos, e lá no alto as estrelas pareciam bêbadas de sono. Até que adormeceram.
Um raio morno e atrevido, um simples dedinho de sol, esgarçou-se pela praia, passou por sobre a fogueira apagada e demorou-se espantado sobre o rosto barbado do homem magro.
Aquele gesto de ternura despertou Frei Abóbora. Sentou-se ainda enrolado no cobertor descolorido e afastou do rosto e dos cabelos a areia frígida e pegajosa. Depois escovou os olhos com os nós dos dedos. Estalou os ossos das pernas e sentiu-se ainda muito cansado. Nem parecera ter dormido uma noite imensa.
Pesquisou a vida, já agora atacada pelo jovem sol. As praias se perdiam em distâncias encompridadas. A canoa obediente continuava amarrada, presa ao cabo da corda que estrangulava o remo enterrado na areia molhada.
Leu o nome escrito com uma letra esverdeada e limosa: Hermenegilda.
Hermenegilda do diabo! De todos os pecados. Canoona burra, idiota, pesada, cretina, quadrada. Um poço de todas as más qualidades. E havia gente que conversava com canoa, que entendia canoa! Podia ser, mas aquela burrona era tão truculenta e lerda que nem sequer sabia a única obrigação de qualquer canoa: acompanhar o canal sozinha e sem errar. Mas qual o quê, era só deixar Hermenegilda derivar sozinha na bubuia, e ela, zás! ou perdia o rumo, entrava pelos furos sem profundidade necessária, encalhava nas tranqueiras ou ia de propósito esbarrar nos galhos das árvores mortas que entulhavam o rio. Que precisava paciência, isso lá precisava. Enfim, só mais um dia, só mais uma noite, quem sabe? e ela seria dada de presente ao primeiro pobre que aparecesse em Santa Maria, que os civilizados tinham batizado de Araguacema. Nome exatamente muito bobo e sem tradição de rio.
Com aquele resmungar descosido o tempo tinha passado um pouco mais e o sol já adquirira uma suave mornidez que acalentava o corpo. Até que já dava para se levantar, mas Abóbora ou Ab como ele costumava se abreviar, ficou por ali, naquele cantinho esquecido, enrodilhando no coração, coragem e forças.
A consciência aguilhoou-o: "Vamos, Ab, que ainda tens muita estrada pela frente, muito estirão de légua a cortares. Depois, quando o sol do meio-dia esturricar teu suor, não me venhas com nhenhenhém!"
Respondeu-se aborrecido: "Já vou, sua chata".
Soltou as cobertas e caminhou, sentindo os pés doerem no gume da areia gelada.
Acocorou-se na beira do rio, sem coragem de lavar o rosto. O rio dormia ainda, todo liso, todo vidro. Debruçou-se para lavar-se e enxergou seu rosto queimado e gasto pelas rugas. Quando deu com os espelhos da água refletindo a tristeza dos olhos, não pôde se conter com a descoberta que fazia: "Há gente que já nasce com a morte dentro dos olhos!".
Trouxe a água fria contra a visagem e lavou rapidamente o rosto. Voltou-se para a canoa. Mexeu numa lata de banha e no fundo encontrou um pedaço de mandioca cozida sem sal. Resto que sobrara do jantar. Só que no jantar da véspera tivera a sorte de encontrar três ovos de gaivota camiá.
Levou o aipim frio, sebento, enrijecido, à boca e começou a mastigá-lo tendo a impressão desagradável que comia a vida velha das coisas.
Precisava viajar logo; aproveitar o máximo do tempo. Mas não resistiu à tentação de sentar-se um pouco, enquanto desenjoava o estômago daquele bagulho que comera.
Olhou um céu azulíssimo, imenso, abandonado nele mesmo. Ficou com os olhos molhados, pensando na pornografia da imagem que o perseguia sempre despertando a realidade cruel da vida. Seu coração amargurado gritava em turbilhão de desesperos:
- Céu tão bonito, tão azul, tu que também começas por c e terminas por u também, onde escondes no teu desperdício de uma sílaba, nessa enormidade, onde, onde... escondes Paula?
Desviou o rosto para o rio, os miguelinhos nadavam pressurosos esperando que o homem lhes desse uma migalha do que eles na sua voracidade imaginavam um lauto almoço. Mas o homem triste, levantou-se e foi desamarrar a canoa.
Nada poderia responder à sua estranha angústia nem demovê-lo da sua tristeza perene: tristeza constante, como se a morte que descobrira em seus olhos o perseguisse feito a própria sombra.
O sol delineava a paisagem numa marca de fogo.
O reverberar da luz atacava os olhos onde quer que se olhasse. Principalmente os olhos fatigados de Ab, castigados pela noite mal dormida cortada a cada instante pelos fantasmas do frio.
Hermenegilda pesadona descia o rio contra a vontade, sem pressa alguma de chegar, descobrindo a fraqueza do homem, abusando do seu abatimento e cansaço.
Não eram os braços de Ab que empurravam a embarcação no rio, e sim o seu desânimo avassalador. As forças teimavam em não querer continuar, mas a raiva, o desconforto, o mosquito, a falta de vento que fazia o calor circular pelo corpo enfraquecido, obrigavam-no a prosseguir, prosseguir...
Melhor seria deitar-se a uma sombra e deixar que as horas violentas do sol passassem indiferentemente. Nem sentia fome, tal o seu desmoronamento. Todavia, a qualquer momento pararia para pescar, fazer um fogo e alimentar-se de peixe e farinha, pois que tudo que trouxera de matula terminara.
Como as horas eram eternas! Nem uma sombra descuidada em formato de nuvem conseguia tapar a crueldade do sol causticante. Até o vento que alivia tudo e leva para longe os mosquitos, mais atraídos ainda pelo suor e o sujo das roupas, se esquecera de ventar.
Não pensar em nada, não reclamar, esquecer e sofrer, sofrer e esquecer para esterilizar o desconforto da vida, que segundo Agostinho, o santo, viver era dor. Até o chapinhar do remo nas águas repetia inconsolável: Viver é dor! Viver é dor!...
E quando a vida cansou-se de doer, oferecer aos poucos a calma das horas doces da tarde, Ab criou novo alento. Amanhã chegaria, logo depois da aurora, se a bondade de Deus permitisse, ao porto de Araguacema.
Um fato realmente estranho começou a acontecer, e aquilo fez com que a testa de Ab se enrugasse. Por trás da canoa, nuvens espessas se reuniam numa ameaça. Também aquilo não poderia ser, visto que a época, a estação das águas se findara e já ia fazer um mês que não chovia. Logo, loguinho junho entraria na região, mais friorento e cruel. Nem por azar pensar em chuva numa hora dessas.
Remou mais, olhando a chegada da tarde amena. Agora o cortante de um friozinho rebuliçava as águas do rio e soprava as areias das praias. Jaburus dançavam a dança da conquista e do amor, correndo em volta das fêmeas com as asas grandalhonas entreabertas e emitindo um canto bárbaro e feio. Colhereiros e maguaris descreviam curvas no espaço antes de alcançarem a ponta da praia para descansar o dia de céu. As ciganas no sarão, atraídas pelo rumor da canoa, regougavam estridulamente, saltando de galho em galho, alçando vôo ou abrindo os leques marrons das caudas. Era o momento em que as árvores ribeirinhas deixavam de ter folhas para se folhearem de penas.
Ab voltou a vista para o céu, e as nuvens tomavam mais volume que momentos antes, e, como um grande guarda-chuva ameaçador, faziam, na hora em que não mais era necessário, uma grande sombra sobre a canoa, o homem e o rio.
À proporção que a noite descia, o vento aumentou ganindo, desesperador.
Frei Abóbora foi-se aproximando da margem do rio, contornando as praias, procurando um lugar mais seguro para abrigar-se na noite.
As nuvens negras se adensando mais, se englobando de um negror terrificante, ficavam altas sobre a cabeça. Talvez que se o vento, subisse um pouco, fosse afastando para longe o temporal que não deixava dúvidas de vir.
Ab sentiu doer o coração, mas guardava ainda um restinho de esperança de que a boa sorte o ajudasse:
- Deusinho de minha alma, logo no fim, no finzinho da viagem. Você não vai fazer isso comigo, vai?
Contornou a curva de uma grande praia e abrigou-se numa pequena enseada. Ali a praia era bem alta. Quem sabe daria tempo de recolher lenha para uma pequena fogueira. Mas o vento contrariou esse pensamento. Deu uma guinada forte como um soco, e um poeirão de areia caiu em direção da canoa. Foi preciso esconder o rosto nas mãos para não ter os olhos feridos.
As nuvens da tempestade começavam a baixar, fazendo com que a noite, ainda não madura de todo, se escurecesse mais que o necessário.
Nem uma estrela no céu. Só ameaça. Precisava correr. Amarrar a canoa com segurança. Esqueceu-se da sua fraqueza e começou a agir. Fincou o remo completamente na areia e amarrou nele a canoa com a corda da proa. Depois, com a zinga, apoiou a embarcação, grudando-a quase nas costas da praia. Com outra corda firmou a popa fortemente, enfiando um pedaço de madeira na areia. E foi só. Às pressas retirou a coberta e uma pequena esteira e abrigou-se, embuçado, contra a fúria do vento e a tempestade de areia. Tudo era noite e medo. O relâmpago incendiava as nuvens negras como um serrote de fogo.
- Deus meu! Nem sequer poderei fazer uma fogueira! O vento uivava e o rio fazia um rumor desorientado. As ondas enfurecidas arremetiam contra a canoa; Hermenegilda dava corcovos em sonoros baques, imprensada pelo furor do vento e pelas bofetadas da água; borrifos se misturavam com peneiras de areia para cair sobre o seu costado.
Ab sabia que no dia seguinte, quando passasse a chuva e precisasse viajar, teria um trabalho enorme para limpar aquela areia seca e endurecida. Enfim, ainda não seria na certa a pior coisa.
As grandes aves fugiam em alarido do temporal. As marrecas e as gaivotas gritavam ensurdecedoramente. E Ab esperava a chuva embrulhado numa pequena coberta, enrolado num pedaço de esteira. Mal podendo respirar com a tempestade de areia. Se a chuva viesse logo, talvez também logo se fosse.
E o esperado não se fez de rogado. Com um rugido bárbaro a chuva desabou sobre a terra dos homens. Naquela brutalidade incomparável os jorros dágua foram asfixiando a areia e estrangulando o vento. O cheiro de terra molhada subiu pelos espaços dando apenas o começo de uma sensação gostosa. Depois também extinguiu-se para encharcar a praia de frialdade incômoda. O rio sossegara mais, e Hermenegilda parou de chocar-se contra a dureza da praia.
As horas se desfiavam sem pressa alguma. E o frio aumentando, aumentando pelo corpo, pela alma. Ab sentiu os olhos molhados. Positivamente não merecia aquilo, e reclamou de Deus, surdamente irritado.
- Não entendo bem o que Você está fazendo, nem por que está fazendo isso comigo! Não vê como estou enfraquecido e cansado? Não viu o dia de sol escaldante que eu tive que passar, com todas as forças me faltando, tanto no corpo como na alma?
Mas a chuva estava rindo dele em resposta. Só aquele toque-toque grosso contra a esteira já vazada dágua.
- Por que Você não me dá uma pequena noite de paz?
Só o chiado monótono da chuva caminhando em toque-toque no grosso do rio.
- Bem que Você podia ter-me dado uma noite estrelada. Bem que eu podia ter pescado um peixinho. Bem que eu podia ter feito uma pequena coivara para aquecer minha solidão.
Só a chuva roçando a areia em toque-toque compassado.
Aí Ab perdeu as estribeiras. Nada podia contê-lo mais.
Sentia-se leproso de tanta raiva. Comido, devorado, esmigalhado pelo desconforto. Doíam-lhe as costas pelo esforço de um dia bem remado. As juntas, os braços, sobretudo os joelhos, aguilhoavam-no com a intensidade gélida da umidade. Rilhava os dentes e friccionava os músculos enregelados da perna.
E a chuva não passava nunca. E um começo de fome espicaçava-lhe o estômago. E Deus lá em cima, comodamente afundado numa poltrona de nuvens, ficava furando o céu numa indolência total.
- Se Você pensa que me fazendo sofrer assim me leva pro céu, está redondamente enganado. Pode ficar com toda a sua porcaria; eu troco tudo isso de bom gosto por um pedaço de carne ou um peixe frito comido na pá de um remo!...
E a chuva, o frio e a fome se uniam para zombar dele. E a dor fininha aumentava mais, em proporção à sua irritabilidade.
Devia a chuva ter engolido a monotonia das horas. Meia-noite por certo caminharia longe. E a água não parava de cair.
Então Ab se descontrolou de uma vez. Descobriu-se todo, ficou em pé sentindo inteira a surra da chuva. O coração fervia de indignação. Abriu os braços em cruz e, engolindo chuva, invadido dágua, gritou para o céu:
- Deus! Deus!... Você é o maior filho da puta que eu conheço! O maior de todos... O maior de todos... o maior de todos...
Começou a soluçar de desespero: Misturando suas lágrimas à chuva de Deus. Caiu de joelhos, tremendo todo, cobriu o rosto com as mãos. Depois, numa resignação inesperada, embrulhou-se na coberta molhada e na esteira pingante. Encolheu-se todo e começou a chorar baixinho, murmurando frases que só ele mesmo poderia compreender. Falava, chorava e babava. E no meio disso a água, escorrendo sempre, enchia sua boca de areia pegajosa. Continuou chorando, e agora só o coração reclamava, atordoado.
- Você sabe que eu vim porque quis. Também, quem mandou eu sair do conforto, para me embrenhar numa selva desgraçada dessas? Entretanto, já não é mais tempo de chuva, escusava Você mandar tanta água no meu último dia de viagem.
Deus respondeu na sua consciência: "Não será o último, meu caro Frei Abóbora. Não será o último".
- Tá certo que não seja. Mas que mal eu fiz? Sair nessa canoa cretina dando um murro desgraçado, tratando de um bando de gente doente, vendo uma porção de aldeias abandonadas de tudo, sem remédio pra febre, meninos buchudos com diarréia, amarelos de bichas, e tanta coisa mais que Você devia ter sabido quando criou o mundo...
Deus teimava em persegui-lo, com aquela teimosia que até parecia a da chuva.
- "Tudo isso ainda é pouco, Frei Abóbora, tudo isso ainda não será a última vez".
Parou aos poucos de chorar, e agora o cansaço e o desabafo controlavam mais a sua irritação. Mas que era duro, era. Depois, não adiantaria ficar discutindo com Deus, porque sempre Ele levava a melhor. Uma pontada dolorida mordeu o buraco mais fundo e escondido do seu coração. Se olhasse para o céu e indagasse sobre o conteúdo de sua imperecível angústia, se perguntasse à chuva, ao vento, à terra, à dor, ao desconforto, se perguntasse finalmente a tudo que existe, onde estaria Paula, nenhum deles saberia responder. Mas se perguntasse a Deus, talvez um dia Ele lhe respondesse...
Meneou a cabeça molhada, desorientado. Deus deveria esconder Paula de ciúme.
Seus lábios murmuraram docemente:
- Paula... Paule... Paule... "Toujours"... Paule "Toujours"... Pô...
A tristeza o acalentava como podia, fazendo ressurgir lembranças que deveriam estar mortas, mas que a condição humana não permitia nunca esquecer.
Adormeceu de fadiga e esgotamento. Quando acordou, a manhã se delineava ainda por dentro da cortina de chuva, mas esta começava a se filtrar, anunciando que pararia logo.
Abriu os olhos e, como sempre, limpou a areia do rosto. O corpo estava enregelado, parecia sentir uma dor de frio. Ergueu-se entontecido. Não morrera. Deus tinha razão. Ainda havia mais dor pela frente, no horizonte, no futuro. Sem dor o homem não vive.
Foi espiar o estrago da canoa. A fome voltou a incomodá-lo. Limpou a areia de um pedaço da canoa e procurou um restinho de rapadura escondido numa lata de banha usada. Mastigou devagar para render. A chuva, depois de judiar por uma noite desgraçada, se recolhia para sumir. Era agora apenas uma sombra cinza que atravessava o rio para esconder-se na mata esverdecida.
- Toca a andar, Frei Abóbora. Não falta muito. Quatro horas descendo mansamente o rio. Mesmo porque você não tem mais forças para lutar.
Com cautela retirou a areia que o vento acumulara sobre o barco. Urgia agir assim para que Hermenegilda não se tornasse mais pesada. Sentia-se no fim do caminho, no resto das suas energias.
Começou a remar para aquecer-se. Remar para viver, reviver. Receber na alma o consolo de Santo Tomás de Aquino que apregoava aos sete ventos: "Viver pronto para morrer, mas viver como se nunca fosse morrer".
Sorria, desconsolado. Tom, como o tratava na intimidade, era tão gordo que a mesa onde trabalhava possuía um buraco para que coubesse sua barrigona. Tom, tão gordo, e ele tão enfraquecido e faminto.
O sol surgia como por encanto. A selva estava perfumada de chuva, num esplendor luzidio. As praias brancas haviam adquirido um cinza reverberante. O rio era prata estendida sobre as águas. Voltaram as grandes aves para o céu. Voltavam as aves pescadoras para recomeçar a faina do dia. O solão amigo, aquecedor, dava nova dimensão às coisas que dourava.
Aquela opressão da noite anterior ia sendo espantada pela riqueza das paisagens.
Remou mais e aquietou o coração, abrindo-lhe a primeira veneziana de ternura. Sentia até um pouco de remorso. Se aquilo continuasse, acabaria cedendo. Sempre fora assim: estourava de raiva, atravessava uma rua e pum!... a raiva tinha desaparecido.
Olhou meigamente o céu que escondia Paula na beleza de toda a sua amplidão e engoliu em seco tanta maravilha.
Comentou, para principiar.
- Não há dúvida que Você fez as coisas muito bonitas... Silêncio do lado de lá.
- Ontem foi horrível, não?
Novo silêncio. Parecia que Ele estava gozando o seu encabula-mento.
Tentou desculpar-se.
- Mas que foi duro, foi. Talvez eu tenha sido um pouco precipitado.
Uma rajada de vento abateu-se sobre o rio, a canoa e o seu rosto. Parecia até que o vento perguntava:
- Um pouquinho?
- Bem. Mas no meu lugar o que é que Você faria? Diga?
Não veio resposta, mas aquele vento queria dizer que do outro lado as coisas estavam receptivas.
Remou mais e olhou o encantamento da paisagem, reconhecidamente.
- Obrigado. Mas eu tinha que desabafar. Jurei na minha vida confessar tudo que fizesse, do mais triste, do mais escuso, do mais feio. Tudo não passou de um desabafo, uma confissão Depois, se eu não brigar com Você, com quem vou brigar nesse abandono todo?
Ficou com os olhos molhados, como um bobo. Remava sem jeito e espiava para o alto.
- Juro que eu não tenho mais raiva de Você. Nem que O detesto. Sabe, Deusão, Você é um sujeito formidável! Formidável mesmo. A gente precisa ter muita paciência às vezes com Você. Mas vá lá. Eu perdôo tudo. Não estou mais zangado. Eu perdôo Você de coração...
Aí veio uma alegria imensa. O vento desceu para afastar os mosquitos. O rio correu mais para que Hermenegilda não se tornasse tão obtusa. E tudo ficou mais lindo porque Deus, sentindo-se perdoado, estava contente da vida.
E saíram rio abaixo muito amigos de novo.
Frei Abóbora na sua canoa dura e Deus remando a solidão dos homens.
Segundo Capítulo - "Toujours"
CAPITÃO Murilo estava quase sobrevoando o rio. Comprazia-se com a sombra do avião deslizando sobre as praias, sobre o rio ou corcoveando nas copas dos arvoredos. Tenente Barbosa tirou-o do enleio.
- Será que o cara lá já acordou?
- Deixe o pobre dormir. Seu cansaço é tamanho que ele nem viu que já descemos e subimos três vezes. Se o avião caísse, ia pro céu direto.
- Você conhece o homem há muito tempo?
- Quem tem mais de cinco anos por essas bandas conhece Frei Abóbora. Conheci-o faz tempo no Xingu, no antigo posto Capitão Vasconcelos. O homem é tarado por índio. Chega até a se despersonalizar para ajudar qualquer bugre. A primeira vez que o vi, levava meu pai para conhecer a selva. Meu pai ficou impressionado com ele. Naquele tempo ele era apenas o homem do tamanco branco.
Reviu o avião descendo no estreito campo do Xingu e a indiada nua cercando o aeroplano. Seu pai ficara espantado com a musculatura dos silvícolas. E sobretudo com o sorriso e simpatia que demonstravam. Perguntou a um dos conhecidos por Orlando. Ele fez sinal dizendo que Orlando tinha viajado, estava longe.
- E quem está tomando conta do Posto, Maricá? O índio riu e apenas murmurou:
- Abo.
Caminharam em direção ao rancho, seguidos pelo bando de índios. Todos esperavam ganhar qualquer presente daqueles "caraíbas".
Maricá segurou-o pela manga da camisa e levou-o até a enfermaria, um rancho menor, também de formato circular. Apontou para dentro.
- Abo.
O homem estava agachado, fazendo um curativo na perna de um índio ainda moço. Ergueu-se solícito e apresentou apenas o punho para aparar a saudação do Capitão Murilo, pois tinha as mãos sujas de remédio.
Desculpou-se.
- Ouvi o barulho do avião, mas não pude ir até lá, porque senão esse diabo dava o fora sem se tratar. Mas que prazer em vê-lo, Capitão Murilo!...
- Trouxe meu velho para conhecer o sertão. Ab riu para o simpático senhor.
- Vai gostar muito. Pena que Orlando tenha ido até o Rio em busca de verba. Está tudo num atraso danado. Os senhores não querem dar um pulinho até o outro rancho? Logo, loguinho, acabo com isso e chego lá.
Encaminharam-se para lá, ainda seguidos pelos índios.
- Tudo isso, Papai, e só isso, é que esses homens têm para viver.
O velho ficou perplexo. E era gente tão moça e tão alegre! Penetraram no rancho, examinando-o bem. Algumas redes armadas. Um monte grande de areia da praia para os meninos virarem cambalhotas. Uma ou outra cama de campanha, e só.
O velho cocou a cabeça, admirado.
- Não é muito, não? E tem gente que ainda calunia esses abnegados. Sentaram-se no banco tosco, brincando com os índios conhecidos do Capitão. Logo após Frei Abóbora entrou, enxugando as mãos nas calças desbotadas.
- Estávamos aguardando você para saborear um cafezinho. Ab riu gostosamente.
- Bem que eu gostaria. Um cafezinho, com uns biscoitos de polvilho, um beijuzinho quente com uma manteiguinha cheirosa. Pois é. Mas creia, meu caro amigo, vontade é o que não me falta, mas...
Deu outra risada.
- Faz exatamente quatro meses que nós não sabemos o que é café, nem açúcar, nem cigarro, nem sal, nem gordura... Nem mesmo um sabonete. Orlando foi lá quebrar o galho. Estamos aguardando sua volta. Tem noites que o meu céu consiste em sonhar com um maravilhoso pedaço de goiabada Peixe, daqueles que dão arrepio no queixo de tão doce...
Murilo balançou a cabeça.
- Possível, santo Deus?
- Não é possível, mas tem que ser.
O velho ficou olhando as pernas magras de Frei Abóbora. Fascinado pelos tamancos brancos do rapaz.
- E o que vocês têm comido ultimamente?
- Dela: a bruta. A irmã abóbora. A gente pega arroz sem sal, esmaga a abóbora, chacoalha a pimenta em cima e sapeca goela abaixo. Se deixar esfriar, não agüenta. Ou então gruda no véu pa-latino...
Riu de novo.
Descruzou as pernas e aconchegou as mãos.
- Além da nossa comida comum, temos uma rede limpa, muito frio, e apenas o nosso calor humano para oferecer. Ou quando muito, se a nossa proposta não for tentadora, um banho gostoso que mata tristeza nas águas frias do Tuatuari.
Depois quase implorou.
- Por caridade, Capitão Murilo, fique com a gente essa noite. Gostaríamos tanto de saber alguma coisa da cidade! Estamos também sem rádio.
Ficaram. Conversaram alegremente até tarde. Capitão Murilo sabia que uma noite mal dormida e mal alimentada não dava para matar ninguém.
Seu pai foi até o pequeno rancho onde Ab dormia. Era um rancho minúsculo. Dentro só havia uma pequena cama de campanha, da qual só duas pernas funcionavam. A parte posterior era sustentada por um velho caixote. Uns pregos na parede sustinham algumas camisas. Em cima da cama havia um daqueles cobertores tipo saco e uns jornais velhos e amarelados.
Ab mostrou os jornais.
- Isso serve para espalhar na cama e quebrar a frialdade. Sente-se. O velho estava estupefato. À luz da lamparina o ambiente parecia mais pobre do que qualquer cela de frade pobre.
- Mas você é moço, não pode acabar com sua vida assim desse jeito.
Ab bateu nas costas do novo amigo.
- Estou aqui porque quero, porque gosto. Ninguém me obriga a ficar. E mesmo, olhe - alisou o saco de acampamento. - Isto aqui é um luxo que muita gente não pode ter. Imagine esses pobres indiozinhos que dormem fazendo fogo dos dois lados da rede. A todo instante são obrigados a se levantar para fazer renascer o fogo. Já imaginou?
- O que gostaria você de receber? O que poderia lhe mandar da cidade, logo mesmo que chegasse?
- Tanta coisa, que nem sei o que escolher.
- Digamos o mais imediato.
- Poderia lhe pedir três coisas?
- Muito mais.
Abóbora sacudiu a cabeça negativamente.
- Um pedaço de chocolate, um maço de cigarros e jornais e revistas; não importa que sejam velhos. Aqui sempre seriam novidade.
O pai do Capitão Murilo engoliu em seco.
- Tudo isso lhe será remetido. Juro. Depois estalou os dedos nervosamente.
- Que azar! Ninguém da tripulação fumai Mas fique certo que não esquecerei o homem dos tamancos brancos.
Ab tornou a bater-lhe nas costas.
- Mas não se esqueça. Porque muita gente que vem por aqui fala coisas parecidas e quando chega na cidade nem se lembra da gente...
Agora Capitão Murilo dirigia o avião pensativamente e Frei Abóbora dormia sem cessar.
Tenente Barbosa despertou-o do seu alheamento.
- Homem! Onde é que você estava que lhe perguntei duas coisas e você não ouviu?
- Estava longe, o que foi?
- Perguntei se o homem lá é missionário mesmo.
- Nada disso. É e não é. Não é missionário no verdadeiro termo da palavra. Mas supera dez missionários juntos.
- Ele ganha para fazer tudo isso?
- Nada. Nada de nada. Passa uma temporada na cidade, trabalha, pede esmola, ganha e traz tudo para os índios.
- E de onde vem o apelido de Frei Abóbora?
- Nunca perguntei. Nunca mesmo ouvi falar o seu nome. Pena que dentro de meia hora tenhamos que deixá-lo no Bananal. Vamos fazer uma vaquinha para ajudá-lo?
O sargento de bordo entrou.
- Capitão, o homem magro acordou.
Murilo levantou-se e seguiu o sargento. Sentou-se perto do velho amigo dos tamancos brancos.
- Estava pensando agora mesmo, Capitão, que não foi Pedro Álvares Cabral quem descobriu o Brasil e sim esse danado do DC3.
Falava fracamente e com esforço.
Capitão Murilo observava o latente estado de fraqueza do homem: Tinha envelhecido, ou melhor, se gastado bastante desde a última vez que estiveram juntos.
- Mas, Frei Abóbora, que diabo deu em você? Como é que um homem pode chegar a tal estado de desgaste físico? Onde é que você estava?
- Lá - e apontou com os dedos magros a direção do Xingu. Depois continuou pausadamente, como se cada palavra portasse um grande peso.
- Fiquei quatro meses ou mais, nem me lembro, ajudando no reino da abóbora. Lá a gente só tem fartura quando a verba chega... depois...
- E como é que veio parar desse lado?
- Apareceu um avião particular e me deu uma pequena carona até Mato-Verde. Então, como eu tinha Aralém, remédio para disenteria e antibiótico, arrumei uma canoa miserável e desci o rio para dar uma mãozinha nessas aldeias tão abandonadas. Não pensei que estivesse tão fraco. Muito mais do que pensava. Enfim, vou descansar uns dias no Bananal, recolher um material de índio para vender e comprar fazendas e munições. E um bando de quinquilharias que os brutos precisam.
Capitão Murilo sorriu.
- Sempre a mesma coisa?
- Além de Deus o que mais existe? Sempre a mesma coisa. Só dia e noite. Noite e dia.
Suspirou, fatigado pelo esforço da conversa.
- Como gostaria de arranjar um cigarro!
O sargento apanhou um maço e um isqueiro entregando-lhos. Com os dedos trêmulos Abóbora retirou um e levou-o à boca. Mas seus dedos seguraram o isqueiro a tremer, sem forças para acioná-lo. Foi preciso que o sargento viesse em seu socorro.
Deu uma tragada comprida e recostou a cabeça entontecida contra a cadeira. Só então relanceou a vista pelo resto do avião e pôde notar que uma porção de gente diferente o observava. Lembrou-se que embarcara com outras pessoas, não aquelas. Por certo o avião parará muitas vezes e houvera troca de passageiros.
Riu para o Capitão Murilo.
- Como vai seu pai?
- Bastante bem. Esperando sua visita um dia, no Rio.
- Um dia irei para agradecer pessoalmente os presentes que me enviou.
- E depois do Bananal?
- Certamente São Paulo... São Paulo.
Riu suavemente.
- Logo, loguinho, estarei qualquer tarde na Barão de Itapetininga espiando Françoise passar...
- Estamos chegando em outra casa sua, Frei Abóbora. Seus bugres já estão sentindo o seu cheiro. Quantos anos faz que você vem ao Bananal?
Pensou um pouco.
- Talvez vinte três ou vinte e quatro. Sei lá! Naquele tempo não existiam vocês com asas de anjo para ajudar-nos. Tudo era tão duro e tão distante! Trem, canoa, caminhão e muita marcha a pé. Em compensação era moço e prestava para alguma coisa. Hoje sou essa porcaria inútil que está vendo.
•
Seus planos falharam redondamente. Teria que permanecer no Bananal muito mais tempo do que supusera. Seu estado de inanição era tamanho que mais parecia ter vindo de um campo de concentração e não das selvas do Xingu. Caminhara o quilômetro que leva do aeroporto até a aldeia dos índios quase que carregado, apoiado, se arrastando. Os joelhos doloridos como que se tinham paralisado. Na casa central do Serviço deram-lhe um quarto com uma boa rede. A enfermeira aplicou-lhe várias injeções doloridas de vitamina. Depois, como o estômago reclamasse, foram aumentando aos poucos a sua alimentação.
Atacou-o então um verdadeiro estado de prostração. Tornara-se sonolento e febril. O corpo a cada momento acometido de arrepios e mal-estar. Delirava até de olhos abertos...
Sentia o macio da rede incomodá-lo, doer mais que as areias duras da praia.
Até os índios tinham interrompido as infindáveis cantorias e o chacoalhar dos maracás para que ele pudesse se recuperar.
E uma noite, entre a febre e o sonho, seus fantasmas com dedos de angústia, reabriram-lhe as chagas da saudade.
...Olhou espantado para o amigo surpreso.
- Que foi?
- Céus! Como você está queimado.
- Vim de lá. Da selva.
- Quer posar pra mim?
- Quero. Estou a nenhum.
- Com esse bronzeado você vai ficar um colosso.
- E não é isso. Olhe minhas mãos calejadas.
- De quê?
- Remo e machado. Estou forte pra burro.
- Por que você não volta a posar na Escola de Belas-Artes?
- Volto. Você arranja?
- Só aparecer lá. Aqueles modelos estão horríveis. Uma mulherada de peito caído.
- Quando, amanhã?
- Amanhã. Você tem desenhado?
- Parei um pouco.
- Então até.
- OK.
Lembrava-se que voltara a posar fazia quinze dias. E não chegava para todos. Tinha que posar nas aulas de modelo-vivo de tarde. De manhã, nas aulas de escultura. Depois do almoço, para particulares. Nem tinha tempo de trocar de tanga. Ficava cansado, com os pés doendo. Pregado nas poses, impassível, espiando um relógio como uma condenação colocado bem defronte dos olhos. O sangue parecia engrossar nas veias. O tempo se amarrava aos minutos. E até que não caísse num nirvana absoluto, num desinteresse total, aquilo se assemelhava a um purgatório.
Posava sempre com uma condição, a de fazer o curso livre de desenho. Mas desta vez estava tão assediado que não lhe sobrava tempo para nada. Era bom porque precisava de dinheiro. Fazia quatro anos que posava na Escola. E poderia continuar posando, apesar da magreza do salário; seu corpo ainda resistiria muito. Mocidade não lhe faltava.
Perdido no desinteresse deixava que o tempo se gastasse, que triturasse as horas como bem lhe conviesse, pois que estava acorrentado sempre à_ imobilidade.
No intervalo de uma das poses de modelo-vivo, o amigo chegou-se a ele e perguntou.
- Que vai fazer de noite?
- Estou meio desacostumado ainda com as poses, pode ser que vá para o meu hotel na Praça da República, dormir.
- Tenho um belo programa. Principalmente para um "pronto" como você.
Sentou-se no estrado, e enquanto se interessava pelo assunto friccionava os pés, ativando-lhes a circulação.
- Uma festa.
- Onde?
- Na casa daquela escultora grande e gordona. Comida e bebida a rodo. Todos os artistas foram convidados.
- Mas não sou artista.
- Besteira. Você desenha tanto quanto eu. E mesmo - piscou-lhe os olhos, - ela simpatiza muito com você.
- Não tenho roupa.
- É festa de artistas. Roupa não conta. Se quiser, a gente se encontra às oito e meia no Largo do Machado. Tá?
- Mesmo que eu mude de idéia, me encontro com você no Largo.
*
Pensou não ir, mas foi. No hotel, tomou um belo banho, afastando o cansaço de um dia de estátua. Vestiu um terno claro onde se via um xadrez marrom bem suave. Camisa, aquela mesma azul-marinho porque lhe ressaltava o tom bronzeado e o dourado dos cabelos. Era outro homem, vomitando mocidade e alegria por todos os poros. Nem parecia que estivera tão cansado.
Encontrou-se com o amigo à hora aprazada.
Riram-se ao mesmo tempo.
- Pensei que não vinha.
- Mas vim.
O amigo observava-lhe a roupa.
- Nada mau, nada mau.
- Me fiz o mais elegante possível.
- Isso é bom, porque existe sempre nessas festas umas milionárias malucas dando sopa.
- Se forem iguais àquelas milionárias viciadas que vão dançar com a gente no cabaré Cristal, na Lapa, desisto.
- É pior do que ficar nu diante de uma multidão na Escola?
- Na Escola os olhos não tiram pedaços. No cabaré, só a pessoa indo é que pode calcular. Cada rosto banhudo, cremoso, perfume doce, as mãos verdadeiras rumas de pelanca, mãos suadas brilhantes de jóias e...
- E o quê?
- E quando as bruxas descobrem que a gente está ali, como prostitutos que não podem arredar o pé antes do cabaré fechar, saem furiosas deixando uma mísera gorjeta que não dá nem para um "filet mignon".
- Nenhuma te pegou depois?
- Umas duas. Ficaram rodando com o carro e chofer até que eu saísse.
- E?
- Menino, os pés da gente doíam tanto que quando se caía nas almofadas macias do carro a gente nem se importava com as outras almofadas nem com as frasinhas, pegajosas de "Mon chou", "MON PTIT CHOU."
Deu uma risada gostosa.
- Vamos tomar um carro?
- Vamos de bonde mesmo.
- De bonde a gente não chega nunca. E recebi umas gaitas de minha avó.
- Menos mal, porque estou pronto como nunca. Já recebi adiantado algumas poses.
Tomaram um carro.
- Por que você deu aquela gargalhada?
- Me lembrei de uma senhora gorda, pálida, com um certo buço, que me deu um abraço grande como se fosse o Cristo do Corcovado, me afogando numa maré suadiça de seda e me chamando sabe de quê?
Riu de novo.
O outro abanou a cabeça negativamente.
- De "MON CHIEN".
Fizeram uma pausa.
- E o homem das fotografias?
- ô rapaz, aquele era um bom negócio. Dava um dinheirão.
- Mas ele não era?...
- Comigo não interessava. Era só na base do negócio. Depois a polícia deu em cima e fechou o atelier.
- Você não tinha medo que alguma foto o comprometesse?
- Não havia perigo. Nunca deixei que fotografasse o meu rosto, ou, quando o fazia, era de tal forma fora de iluminação, que seria impossível ser reconhecido.
- Estou pra ver sujeito mais imoral do que você.
- Imoral, nunca. Sem moral, talvez. É fácil julgar os outros quando se tem tudo. Fácil, fácil. Pois eu não tenho casa, nem pai rico, nem avó pra me mandar gaita. E você não sabe o que é a fome na minha idade.
- Bom, mas eu não tenho culpa de não ser como você, tenho?
- Nem estou ligando pra isso. Se fôssemos depender de mim, estaríamos a caminho de uma festa, marchando de bonde. Onde é a casa da gorda?
- Assim que sairmos de Copacabana e entrarmos na Lagoa. Estamos pertíssimo.
A casa suspensa numa grande muralha, estava toda iluminada.
- Você conhece o pessoal? Já esteve aqui antes?
- Milhões de vezes.
- Uff! Que alívio!
Sentiu-se fora daquele mundo, mas depois de três uísques duplos, achava íntima qualquer coisa. Pra tanto tinha a sua mocidade e beleza. Queria mesmo era comer coisas gostosas e beber uísque de graça.
Foi apresentado a dezenas de pessoas provavelmente sem nome, como era o seu caso. Ao contrário, o amigo estava no seu ambiente. Curvava-se, beijava as mãos das senhoras elegantes, tinha sempre um dito espirituoso para cada ocasião. De longe, piscava-lhe o olho entre bêbado e feliz.
Alguém a quem era apresentado aproximava-se admirado porque o outro fazia o seu cartaz, dava grande importância à sua condição de modelo, exagerava dizendo que o seu corpo era o mais perfeito do Rio de Janeiro. Mas as milionárias robustas e repletas de jóias não apareciam. Isso era algo de bom.
Apanhou um novo copo de uísque numa bandeja que passava e foi-se afastando dos salões. Foi procurar um canto, com aquela mania que não sabia explicar de sempre gostar dos cantos. Descobriu um terraço calmo, menos iluminado, deserto sobretudo e sobretudo derramado sobre as águas iluminadas da Lagoa.
A música de dentro tornava-se longínqua. Um pouco de esgotamento do dia de trabalho, um pouco de atordoamento do álcool, fez com que fechasse brandamente os olhos. O entorpecimento da primeira embriaguez tornava-lhe o mundo leve, sem angústias, sem problemas, sem comparações. O momento era aquele, só aquele.
- Vai beber esse sozinho?
Não abriu os olhos. A voz feminina era agradável. Distendeu o copo, oferecendo o uísque.
- Pode beber. É de graça.
Uma gargalhada gostosa aprovou o seu deboche.
- Está bêbado?
- Não propriamente.
Teimava em não abrir os olhos, com medo de descobrir a milionária gorda.
Ouviu o copo emborcando-se e o entrechocar do gelo.
- Antes de eu chegar onde é que você estava? Em que mundos se escondera?
- Aí é que está o engano. É que justamente eu não estava. Não estava em nada.
- Sabe que eu vi você de longe?
- É?
- De longe você me agradou. Mas aqui nessa penumbra continuo sem ver de perto a cor dos seus olhos.
- São de uma cor boba, castanhos escuros.
- Foi você quem apagou esse abajur?
- Que abajur? Quando cheguei estava tudo escuro. Posso continuar de olhos fechados?
- Pode, mas vou acender o abajur?
Antes que dissesse qualquer coisa a mulher torceu o interruptor. Sentiu que tudo estava iluminado. Ela sentou-se a seu lado no sofá.
- Que pestanas longas você temi Ele sorriu.
- Sabe que você é uma uva?
- Sei, sim.
- Convencido. Você conhece Zoraide?
- Que Zoraide?
- Minha amiga, a dona da casa?
- Fiquei nu uma vez para ela. Uma vez, não, muitas vezes. Dessa vez a risada veio mesmo cheia de gostosura.
- Você é louco. Por que ficou nu para Zoraide?
- Sei lá. Nem quero pensar. O problema era dela.
- Como você "penetrou"?
- Fui convidado por um amigo que é amigo de outro amigo de sua amiga.
- Está achando a festa cacete?
- Até você chegar, estava. Vim só para comer, para economizar o sanduíche do jantar.
- Pobrezinho!
- Você é rica?
- Bastante.
- Gorda?
- Nada.
- Velha?
- Não se pergunta isso a uma mulher. Mas vá lá, por conta do álcool. Trinta e dois anos.
- Que dissimulada!...
- Pois bem, rica, magra, bastante moça e me chamo Paula.
- Deus do céu! Com todo esse capital, quase abri os olhos.
- Espere um pouco. Quando fizer um, dois e três, você os abre.
- Feito.
Ouviu que a mulher se afastava do sofá. Sua voz se fez logo.
- Um, dois, três!
Abriu os olhos e só então divisou Paula na plenitude da sua beleza morena. Recostada contra o terraço, ela ria. Analisou a mulher com encantamento, fulminantemente.
Os cabelos lisos e negros, repartidos no meio, tinham uma independência selvagem. Os olhos aveludados, o nariz bem feito, os dentes branquíssimos, os lábios polpudos. O pescoço esguio, alongado, o colo aparecendo num decote ousado apresentava um branco sombreado. Os seios eram duros, atrevidos, vivos, sob a transparência do vestido branco. Desceu os olhos pela cintura esguia, se espremendo nuns quadris bem torneados. E as pernas juntas eram bem feitas, desde os sapatos até o contorno das coxas.
Ela apontava rindo para o peito e batia com o dedo indicador levemente contra si.
- Gostou de Paula?
- Que nome lindo para uma coisa linda!
Ela apoiou-se nos braços e ergueu-se sentando na borda do terraço. Não se conteve. De um salto estava junto da mulher, segurando-a pelos ombros.
- Você está louca! Pode cair dessa altura!
Meio entontecida, Paula reclinou a cabeça no seu peito.
- Baby. Eu estou procurando você desde que a primeira estrela foi criada...
Um suave perfume vinha de todo o seu corpo, dos seus cabelos. £le queria ficar assim a vida inteira sentindo aquele corpo sobre a sua vida.
- Que perfume gostoso!
- É "Ma Griffe". Griffe, unha, garra.
Com as mãos crispadas roçou as costas dele, desde a nuca até onde suas mãos descontroladas alcançassem.
- Pode chegar alguém. Vamos sair dessa posição.
Deixou-se levar até o sofá com languidez. Reclinou-se e fechou os olhos. Ficaram em silêncio, fascinados pela atração mútua.
Agora era a vez de Paula conservar os olhos fechados. Parecia que não existia mais festa, nem música, nada. Só os dois, se sentindo. Se gostando, se sentindo cada vez mais próximos.
Paula interrompeu o êxtase.
Falava sussurrando.
- Baby.
- Hum.
- Segure minha mão. Obedeceu.
- Você sabe, Baby, o que dizem os árabes?
- Que lembrança! Que dizem eles?
- Que quando aparece um silêncio numa conversa, é porque passou um anjo.
- Então vamos deixar passar uma legião de anjos agora, para que eu decore você. Como você está. Amanhã, quando tudo passar, quero lembrar-me de você assim. Posso?
Ela enterrou as unhas em seu pulso.
- Quem é você, Baby?
- Ninguém! Nada.
- Que bom! Sorriu.
- Bom por quê?
- Todo mundo quer ser tanta coisa.
- Agora é a minha vez de perguntar. Quem é você, Paula?
- Não nos descubramos. Vamos continuar no nosso baile de máscaras.
Quatro anjos passaram lentamente.
- Baby...
- Hum.
- Você poderia gostar de mim?
- Já gosto. E você?
- Pra sempre. Toujours.
- Paula Toujours... A verdade, meu bem, é que você está um pouco alta. E amanhã estaremos seguindo a vida, cada qual a seu modo...
Passos e risadas se aproximaram do terraço. Ele reconheceu a voz estridente do amigo. Adivinhou que a verdade a seu respeito seria descoberta e assim se findaria mais um baile de máscaras.
- Fujão! Virei a casa de pernas pro ar, procurando você.
- Se tivesse virado o terraço, eu tinha caído logo. O amigo deu com Paula sorrindo.
- Ah! Então vocês já se conhecem? Paula então descobriu o Apoio Cigarrette. Ora viva!
Levantou-se meio contrariado.
- Tanto você poderia ter-me apresentado feito Apoio Cigarrette, como Cristo, Narciso, Eros ou qualquer outra estátua de que fui modelo.
Havia um ar de divertimento no rosto de Paula.
- Agora você sabe porque fiquei nu para sua amiga. Quem quer que me pague poderá me ver nu. Vou-me embora. Amanhã voltarei a ser Cristo às nove horas em ponto.
Paula levantou-se e segredou-lhe:
- Baby... Bobinho lindo.
O corpo moço, duro contra o seu, naquela breve despedida; o álcool que arremetia Paula contra os seus braços. Nem sabia se a moça estava se divertindo com a sua insignificância.
O perfume. As unhas, as garras. "Paula! Paula! Paule. Toujours... Toujours... Toujours"...
Terceiro Capítulo - Zéfinêta "B"
O homem põe, Deus dispõe. O homem quer, Deus "pega", não quer. Sendo assim, os planos de Frei Abóbora se retardaram completamente.
Quando começou a abandonar a rede e experimentar os primeiros passos, a terra toda rodava em volta, numa grande vertigem. Respirava forte e tentava novamente. Aos poucos abandonou o quarto para redescobrir a beleza e a quentura do sol de junho que principiava.
E foi uma festa para todos. Os velhos índios vinham conversar com ele à sombra da copada mangueira. E os meninos subiam ao seu colo, misturando o português com o seu linguajar complicado, passavam a mão na sua barba grande e avermelhada. Pediam coisas, encomendavam coisas para quando ele fosse para a cidade.
- Toerá - era assim que eles chamavam Abóbora, - Toerá, você está ficando matukari.
- Eu, velho? Deixe estar, diabinhos, que vocês vão ficar velhos também um dia.
Ria.
- Você está cheio de cabelos brancos.
Passavam as mãozinhas nas suas têmporas, na sua nuca. Um combinou com os outros.
- Não vamos deixar Toerá, que é nosso papai, ficar velho. Todos concordaram.
E foi uma avalancha de pequenas mãos desabando sobre a cabeça de Ab.
- Ai. Ai. Ui! Diabos, arranquem meus cabelos brancos mais devagar. O que vocês querem é me deixar escalpelado!...
Riam-se todos. Arrancavam um fio branco e o erguiam para mostrar a conquista. Ab sentia-se sufocado pelo calor dos corpos debruçados sobre a sua recente fraqueza; ficava entontecido mas deliciado com o odor de peixe cozido que escapava daquelas mãozinhas arteiras. E nada dizia, com medo de afastar tanta ternura.
- Toerá, você traz buna-buna pra mim?
Como qualquer índio adoravam as bexigas coloridas.
- Trago.
- Pra mim, também?
- Pra mim?
- Pra mim?
- Pra todos, seus demônios.
- Traz bola?
- Trago. Pra quase todos.
Sabia que bola era mais caro e mais difícil de trazer.
Depois vieram as multidões de encomendas. Eram carrinho, jogo de dama, bola de gude, pião, papel para fazer papagaios, anzol, camisas, calções e um sem-fim de coisas que obrigaria o seu mísero coração a implorar pela cidade tão grande, distante e fria.
- Trago tudo, vou fabricar, vou roubar, seus moleques. Mas trago também um chicote deste tamanho pra bater no bumbum de vocês todos.
Tentou levantar-se.
- Agora chega, se não Toerá vai ficar com muita dor de cabeça.
Olhou o rio e sentiu o calor do dia. Surgiu uma vontade de molhar o rosto nas águas gostosas do rio amigo. A meninada entendeu o seu olhar.
- Banhar, Toerá. Banhar?
Apanhou o pedaço de vassoura que lhe servia de arrimo e tentou erguer-se. Os joelhos doíam menos agora e principiavam a funcionar.
- Toerá bem que queria. Mas está fraquinho, fraquinho.
- Meninada ajuda. Meninada ajuda.
- Então, você, Uerradiú, corre lá no meu quarto e apanha uma toalha.
- Sabonete tem?
Olhou a alegria refulgindo em cada olhar. Ficou indeciso. Tanto tempo passara sem um sabonete, e agora que ganhara um, seria gasto em dois tempos, com tanta criança junta.
Riu.
- Tá bem, seus gigolôs, podem apanhar o sabonete.
Não adiantara nada ter indicado apenas um, porque todos saíram em disparada, luzidios dentro do sol quente, levantando poeira do chão. A seu lado só permaneceram os mais pequenos.
Quinze dias depois já olhava a vida de outro jeito. As forças foram-se recobrando aos poucos e aos poucos também as carnes começaram a aparecer no seu corpo emagrecido. Agora seus olhos possuíam um novo brilho e o pedaço de vassoura não existia mais em suas mãos. Podia caminhar, se bem que lentamente. Os amigos enchiam-no de banana, peixe, mamão, mandioca.
A velha Xemalo aparecia todas as tardes com uma raiz de mandioca e misturando um português arrebentado, mesclado de termos índios, dava o presente e recomendava:
- Toerá precisa comer muita manlioca. Manlioca é bom pra ficar forte.
Agradecia e sorria, pensando que índio velho nunca conseguia mesmo aprender as palavras direito. Era mais fácil usar uma adaptação. Dificilmente pronunciavam bem; banana, era manana. Belém, Melem, gasolina, kadiurina. Laranja, larájão. Até que conseguiam dar uma certa graciosidade às palavras que em português eram horrendamente feias.
Toca a andar, fazer exercícios, caminhar pela aldeia, sentar-se nas esteiras e ouvir conversas. Visitar a casa de Aruanã e ficar escutando as infindáveis, complicadas e monótonas cantigas. Espichar a vida, cochilar na beira do rio, ficar mergulhado, fazendo fontes com esguichos dágua, borrifando o céu com a boca. Comer indolência mansamente até que se recuperasse de todo e pudesse ir para São Paulo e recomeçar tudo da mesma maneira e cada vez com mais dificuldade, porque a vida encarecia tremendamente.
Uma tarde, quando o calor se fazia mais forte, caminhou em direção à aldeia. Olhando a pobreza dos ranchos, mal alinhados, postou-se diante do Uataú, fixando fascinado as três tartarugas. Eram três virações enormes. Estavam desviradas, as barrigas abauladas mostravam sua qualidade de fêmeas. Deviam ser muito velhas pelo tamanho. Desde que começara a passear pela aldeia que os bichinhos se encontravam ali naquela posição. Ficou com dó dos animais. Não podia mudar a ordem das coisas, entretanto. Dia e noite, mais de uma semana. Sol e frio cortante da noite e as cabeças pendidas, desanimadas. Certamente não compreendiam o porquê de tanta maldade dos homens. Ficavam ali se desidratando lentamente, lentamente. E só iriam morrer dentro de alguns dias, quando chegasse a festa que Andeciula Rituera pretendia organizar. Uma ou outra vez, se tocadas, mexiam também lentamente as patas chatas e compridas unhas. E o sol causticante naquelas grossas armaduras acumularia na certa um calor terrificante.
Ab ficava com os olhos molhados e nada podia fazer. Nada. Imaginava a dor do homem que fora posto para fora do Paraíso Terreal porque desobedecera a Deus e comera o fruto proibido. Fora-lhe então anunciada a dor da vida, o trabalho e a morte como companheiros e sombras paralelas da fraqueza humana...
Mas por que o bicho teria de sofrer a conseqüência do pecado e da desobediência da criatura de Deus? Ou seria aquilo uma ameaça? Ou o bicho participaria dos estranhos desígnios de Deus? Não havia alguma espécie de crença que admitia a encarnação, a transposição da alma do homem num bicho para a purgação do mal e do pecado? Fosse o que fosse, não entendia porque um bicho tão lindo, obra também da mão de Deus, depois de anos de vida dentro das águas gostosas de um suave rio, fosse ali ficar penando, penando, torturado ao fogo de um sol inclemente, sacrificado à indiferença de seres humanos.
Se por acaso, agora, naquele momento, desvirasse os animais e os colocasse no rio, eles estariam tão enfraquecidos, tão sem água no organismo, que não conseguiriam mergulhar. Ficariam nadando desorientados, cegos e sem faro, rodando de bubuia na correnteza. Já experimentara uma vez com uma pequena tartaruga condenada ao mesmo suplício, que comprara por bom dinheiro. O animalzinho levara horas para se recompor. Qualquer mau nadador ainda conseguiria pegá-la a mão livre três horas depois... Por fim conseguiu desaparecer no escuro das águas.
Condoído de tamanho suplício, Ab penetrou num rancho e voltou com um cabaço dágua.
- Sei que de nada vai adiantar, mas todos os dias virei aqui fazer isso.
Ajoelhou-se e, tirando um lenço do bolso, molhou-o e foi espremendo-o na boca das tartarugas. As pobres remexeram a cabeça de um lado para outro.
Quando acabou, devolveu o cabaço a um Indiozinho que assistia curioso e ficou esfregando os rins devagarzinho.
Dentro do coração fazia uma prece estranha: "Que Deus me dê um pouco de ternura na hora da minha morte".
O índio perguntou:
- Por que Toerá fez assim?
- O bicho sofre muito.
- Não sofre não. Papai diz que Cobra Grande e tartaruga não sentem nada quando ficam sem beber.
Fitou a criança sem argumentos para refutar. Mas o menino continuou:
- Quando ela chega, sofre. Se mexe. Depois pára, não sofre mais, se acostuma. Você não viu como ela fica sempre paradinha?...
Passou a mão na cabeça da criança, alisou seus cabelos negros, sorriu e saiu andando.
Repetia-se a mesma história: o homem põe, Deus dispõe. O homem quer, Deus "pega", não quer.
Abóbora voava novamente com o coração cheio de esperanças. Já fazia vinte minutos que deixara atrás a grande aldeia cheio de pedidos e recomendações. Dormiria em Goiânia. No dia seguinte chegaria a São Paulo, onde, segundo se anunciava, o frio intenso causava até mortes. Estava desagasalhado, mas os amigos sempre o socorriam. Nada havia a temer. Fechou os olhos e esquisitamente foi atacado por um tremor de frio. Algum mal-estar, nada mais. Todavia, não demorou muito e novo tremor. Dessa vez vinha mais forte. Olhou as unhas e viu que elas estavam se arroxeando. Um frio umedecido raspou-lhe a espinha. Não havia dúvidas: a irmã Maleita surgira na hora mais inadequada. Tremia a ponto de castanholar os dentes. E aquilo tudo, misturado com os restos de uma grande fraqueza, turvava-lhe a visão. Uma pontada atroz picava-lhe a nuca.
Abriu os olhos e deu com o rosto moreno e amigo do Major Couto.
- Que é isso, Frei Abóbora? Deu o curuquerê? Se continuar assim, meu velho, você não agüenta chegar a Goiânia.
Arranjaram-lhe uma manta grossa para tapear o frio. Os outros passageiros olhavam-no penalizados. Couto continuava.
- Acho que você deveria era mesmo ter ficado dois meses no Bananal. Você está ainda muito enfraquecido, amigo.
As palavras vinham de longe, do oco da eternidade. Até os sons lhe chegavam de um jeito massacrante.
- Vamos deixar você em Aruanã. Pelo menos, no hotel de D. Estefânia, você terá tratamento. Mesmo que não queira.
Quando pôde entreabrir os olhos viu para surpresa sua, que o avião se metamorfoseara num quarto e sua cadeira virará uma cama ampla e confortável. Que milagre acontecera?
Livrou-se das cobertas, pois sentia o corpo inundado de suor, e aspirou o ar com força. Do lado de fora havia vozes e alguns cães ladravam. Devia estar quase de noite, porque as sombras vestiam o quarto. Encaminhou-se para a porta. Tomou o corredor. Agora sabia onde se encontrava. Saiu à rua e sentou-se na calçada, os cães, reconhecendo-o, vieram fazer festinhas. Diante dos seus olhos fatigados, o Rio Araguaia coloria-se com os últimos toques do pôr-do-sol. O velho e conhecido pé de tamboril criava uma gigantesca silhueta contra o céu.
- A primeira coisa que você vai fazer, antes mesmo de dizer boa-tarde, é tomar esse copo de leite morninho.
- Tia Estefânia... Pensei a princípio que estava sonhando. Recebeu o copo e esperou que a boa senhora se sentasse a seu
lado. Seus olhos exprimiam uma bondade que conhecia há vinte anos. Como sempre, estava descalça e ficava conversando mexendo os pés contra a grama e os seixos.
- Que estrago te fizeram agora, Frei Abóbora!...
- Quer dizer que os covardes me abandonaram e foram para São Paulo?
- Eles ainda queriam levar você, mas quando soube do seu estado, fui de jipe com Edmundo no Aeroporto e roubei você.
- Não estou em condições de ficar... Meneou a cabeça, entristecido.
- Você não tinha era condição de viajar. Isso sim.
- E como é que vou poder pagar à senhora? Estou no fim da picada.
- Um dia você paga. Quem ajuda tanto uns bugres que nem o governo se interessa, tem crédito toda vida para mim.
- Mas" agora é época de turismo. A senhora vai precisar de todos os quartos do hotel.
Sabia que naquela época Tia Estefânia precisava ganhar pelos meses que o hotel não funcionava por causa das grandes chuvas.
- Não vai ser por isso, não. É mais pelo barulho que eu vou mandar você assim que cure a febre. Já falei com Dimundo para amanhã dar uma limpeza no sítio do Poção. Você vai pra lá até ficar bom. Vem comer aqui, e pronto.
Colocou o copo de leite, embaraçado, na calçada ainda morna do dia grande de sol.
- Não tem morador lá?
- Tem nada. É até bom que você fique descansando uma temporada por lá, porque assim ninguém rouba o mandiocal que está uma beleza.
Fez uma pausa. Tirou um cigarro do bolso e riscou um fósforo. Baforou uma grande tragada para as nuvens, olhou sempre encantada o vermelho arroxeado do poente e continuou:
- Amanhã vou mandar Dimundo levar no jipe uma cama, duas cadeiras, uma rede, coberta, toalha.
Calou-se. Depois, lembrando-se de uma coisa e vendo a noite quase reinando, gritou para dentro.
- Dimundo! Dimundo!...
O rapazote negro chegou pressuroso acompanhado de uma porção de cães.
- Olha o motor, Dimundo. Daqui a pouco os hóspedes começam a reclamar.
O negro obedeceu e continuou correndo pela rua afora com a cachorrada no seu encalço.
Frei Abóbora continuava indeciso.
- Não sei não, tia Estefânia.
- Não tem nada que saber mesmo. Lá agora está uma beleza. O Poção está cheio e a fonte vive cantando. Passarinho, que é o de que você mais gosta, está fazendo festa todo o dia. Vou dar ordens a meus netos para nem chegarem perto com uma arapuca. Estilingue, então, nem se fala. Viu como sei de tudo de que você gosta?
Talvez devido a tanta febre e fraqueza juntas ficou com os olhos amolecidos, boiando nágua. Bom que a noite estava já escura e impedia que se visse sua emoção.
Tia Estefânia não tinha ainda acabado. Mas estava pronta para dar o xeque-mate.
- Seu danado de Frei Abóbora, quantos anos você me conhece plantada na beira desse rio?
- Bem uns vinte anos.
- E quantos anos conheço você?
- Também por aí.
- Pois são vinte anos que eu vejo você distribuindo bondade e coração por essas brenhas. Pensa que eu esqueço aquela vez que você chegou tão sem camisa que foi preciso comprar uma bem vagabunda para poder viajar? Pensa que eu me esqueço?
Deu uma risada.
- Sabe que no começo eu achava que você tinha miolo fraco?
- Eu acho que nunca deixei de ter.
- Quando você morrer, meu filho, vai ter uma escada de índios, veja bem, não de anjos, mas de índios que de mãos dadas a você ajudarão você subir degrau por degrau. É uma praga amiga que lhe rogo.
- Se todas as pragas fossem lindas assim, Deus viveria de sorrisos.
- Pois bem. Você vai para o rancho e não se discute mais. Se João Artiaga fosse vivo não deixaria você sair daqui nem a bala. Se teimar, chamo Fio e Tanari para pearem você. Chega.
Levantou o corpanzil gordo, deu mais uma baforada para a noite, cocou as cadeiras, tirou uma mecha de cabelo embranquecido da testa e olhou para o lado por onde Edmundo se fora.
- Que diabo deu naquele porquera do Dimundo que não anda depressa com essa luz!
Como que em resposta ouviu-se o ronco do gerador funcionando.
- Mais tarde você toma uma canjinha especial. Agora vou lá pra dentro ver a cozinha, os hóspedes já, já, reclamam a comida. E essas empregadas, amarrando todas elas juntas não valem tostão furado.
Saiu arrastando de leve os pés pelo corredor iluminado pela luz mortiça.
As paredes ainda guardavam um branco forte de recente caiação. Dividia-se o rancho em um quarto cimentado, um pátio que separava a cozinha do quarto. A cozinha se ligava a outro quarto. Um grande e simpático terraço de terra batida. Uma verdadeira maravilha para quem precisava cultivar mais um mês ou vinte dias de sadia indolência.
O mandiocal todo verde deixava escapar dois coqueiros em admirável fase de crescimento. Tudo era verde. Exceto o grande matagal de carrapicho que formava um contraste. Uma nódoa amarelada se secando toda porque era a época em que para a felicidade de todos o carrapichal fenecia.
Procurou o fundo do rancho. Ali, sim, é que era beleza muita. A fonte gorgolejava uma cantiga quase que monótona e adormecedora. Era uma.lingüeta dágua que se despencava de pequena altura para mergulhar no murmurejo das águas do poção. E enquanto o poção se enchia, deixava escapar um pequeno regato que ia se despejar no rio. Os vinte índios da vizinhança já lhe tinham dito que havia até peixinhos, avoadeiras e mandis bem gostosos de se comer. Mas isso era outra conversa. Bicho era de Deus. E se no rio havia tanto peixe importante e grande para comer, por que então mexer com aqueles?...
Sorriu porque se recordava que uns amigos uma vez na cidade o tinham classificado como uma mistura de uísque estrangeiro com São Francisco de Assis.
Rodou a casa que dentro de dois dias iria tê-lo como hóspede. Os pés de amora estavam verdinhos e prometendo floração. Um monte de telhas amontoadas num canto contra a parede, esperando serem úteis um dia. Era um punhado de telhas sem importância se não fosse uma coisa que as tornava diferentes. Sobre elas havia uma bela lagartixa curiosa.
Ab se aproximou e o bichinho não fugiu.
- Boa tarde, linda dama! Como vai?
A lagartixa, que era uma bela lagartixa da selva, e não dessas esbranquicentas lambiôas de parede, apenas se afastou um pouco, estudando, curiosa, o homem que lhe falava.
E como visse que o homem não apanhara pau para lhe bater, nem pedra para lhe acertar, permaneceu no lugar.
- Sabe que a senhora é muito simpática? E tem dois olhinhos muito brilhantes e sobretudo muito curiosos. Pois bem, comunico que virei morar aqui depois de amanhã.
Riu porque tinha certeza que o bichinho não se afastaria amedrontado. Tudo que é obra de Deus gosta de ternura. Virou as costas ainda sorrindo e foi sentar-se no chão do terraço para descansar um pouco. Tirou o chapéu de palha e abanou o calor. De repente reparou que a lagartixinha dera a volta e postara-se no alto, observando-o.
- Se você gostou de mim como eu simpatizei com você, poderemos ser bons amigos. E creia que não deixarei ninguém lhe fazer mal.
Descansou um pouco, limpou o suor da testa. Ergueu-se com cansaço.
- Sabe o que é isso entre os homens, minha filha? Vecchiaia. Velhice - vecchiaia! Velhice. Não que eu tenha idade de um macróbio, mas confesso que estou redondamente apodrecido. E se não fizer força, coração, duvido que me recupere de novo.
Fez menção de andar. Isto é, caminhou dois passos e voltou-se. A lagartixa continuava no mesmo canto, fascinada pela bondade e doçura da sua voz. Apontou o dedo ternamente para ela.
- Amanhã eu volto. Diga a todos os bichinhos que eu não deixarei ninguém ser maltratado enquanto estiver aqui. Fale aos passarinhos que vou pôr arroz com casca para quem gostar e arroz sem casca para quem achar melhor e tiver o bico mais velho e cansado. E se você fizer esse favor, amanhã, quando voltar, arranjarei um nome tão bonito para você que até as flores do croá vão morrer de inveja. Até logo.
Quando veio passear no dia seguinte para fazer exercício nos joelhos e fortalecer-se de sol contra a maleita que se ia, a primeira coisa foi reparar nas telhas recostadas. Nem pensou na fonte, nem nas agüinhas do riacho. Suspirou aliviado. Lá estava ela.
- Oh! que você não me esqueceu! Obrigado por ter me esperado. Como vê, estou mais contente hoje. E você? Fez o que eu pedi? Na certa, na certa; mas vamos sentar ali na sombra porque andei muito depressa e estou sentindo as conseqüências. Ufa!
Caminhou de costas, observando a lagartixa. E mal tinha avançado dois metros sorriu felicíssimo porque ela já se dirigia para a parede.
Mal podia crer no que via. Podia ser casualidade, mas seria um absurdo se a lagartixa o seguisse sem compreender suas palavras.
Procurou o mesmo cantinho e a mesma posição da véspera para que ela não estranhasse. E ela veio se aproximando e parou exatamente no mesmíssimo lugar também.
Ele deu uma risada não muito alta para não assustar o bichinho.
- Tá bem. As novidades são as mesmas. Você viu os móveis que chegaram hoje pela manhã? Pois bem, não é preciso que diga que são os meus; você como criatura inteligente, já terá deduzido. Bem, eu até que estava contrariado em ficar um mês aqui. Mas acho mesmo que não perderei tempo. Mandei buscar umas tintas e uns papéis e vou aproveitar o tempo para desenhar. Quando chegar lá na cidade, como os meus desenhos possivelmente serão a coisa mais linda do mundo, eu os venderei e estarei ganhando uns bons cobres. Poderei comprar um bando de coisas para os meus bugres e umas mixuruquebas que também, pra falar a verdade, ando bem precisado.
Deu um suspiro comprido como asa de jaburu. Ficou em silêncio e pensou em contar para a lagartixinha que quando vem um silêncio, passa um anjo. Aí já era muito difícil para uma pobrezinha daquelas compreender. E mesmo na realidade os anjos só lhe recordavam muita tristeza junta. Disfarçou seu passageiro desencanto e sorriu.
- Bem, bem. Conforme conversamos ontem, como você é uma boa menininha, preciso lhe arranjar um nome. Um nome pomposo como uma rainha. Vamos ver. Você é fininha como um alfinete. Na certa vai engrossar e ficar uma belíssima lagartixa, roliça e cascorenta. Porque pelo jeito você ainda nem entrou na adolescência das lagartixas.
Pensou em alfinete de novo.
- Alfinete. Alfinete. Gozado! Você tem cara de Josefa. Josefa alfinete. Não! Isso é nome prá costureira e não para tão mimosa criatura que quer ser rainha. Josefa. Josefina. Joséfinête. Não. Fica muito francesa. Zefa Alfinete. Que diabo esse alfinete que não me deixa em paz! Mas se ele insiste é porque precisa participar do nome. Zefa, Zéfinête. Deus do céu. Descobri, descobri! ZÉFINÊTA. Isso ZÉFINÊTA. O nome ideal para você.
Olhou ternamente para o bichinho. Por certo ela poderia estar pensando que ele fosse louco. Mas não, se desconfiasse disso na certa já fugiria.
- Tenho a impressão de que você gostou. Agora falta o resto. Zéfinêta, primeiro, segundo, terceiro. Não, uma droga. Você precisa ter um nome de navio. Frederico C. Ana C. Se navio que não é humano pode ser C, você pode ser melhor porque é humana. Então eu quero você como Zéfinêta "B". De agora em diante, minha flor, você está batizada como Zéfinêta "B".
Fez uma pausa, aliviado, e olhou o rancho. Resolveu entrar para examinar a colocação da cama, da cadeira e da mesinha. A rede ficaria a seu bel-prazer.
- Com licença, mas preciso examinar as coisas.
Entrou no quarto e viu a simplicidade de tudo. Exclamou sinceramente enlevado, agradecendo de coração a bondade de Tia Estefânia.
- Puxa vida! Estou rico paca!
Aproximou-se da parede e abriu a janela. Queria luz e alegria para seu lar transitório.
Olhou a cama, uma esteira de índio que lhe servia de tapete, uns pregos que seriam utilizados como cabides. Tudo. Tudo. E descobriu que naquela solidão que iria cercá-lo, além de ter de falar com os bichos que tivessem a caridade de ouvi-lo, ficaria esperando a visita noturna dos seus fantasmas prediletos.
Para surpresa sua, Zéfinêta tinha subido a parede, atravessado o telhado e em cima da janela observava o homem.
- Eu estava falando comigo mesmo, por isso você não pôde escutar, que minha saudade, de noite, vai trazer muita gente para me visitar. E quase sempre para encher meu coração de lágrimas. Os olhos também, para que mentir? Feliz é você Zéfinêta, minha Amiga e Rainha Zéfinêta B, que não precisa aprender a chorar...
De noite, Zéfinêta estava contando para a velha Tia Ranglabiana e para um lagartão velho chamado Undrubligu o orgulho com que recebera o nome. Zéfinêta era tão poética, que até podia deslizar com facilidade na linguagem das lagartixas.
Mas Undruglibu reclamava com sabedoria.
- Menina, se eu fosse você, teria mais cuidado. Nunca se pode confiar demais nos homens.
Zéfinêta deu um muxoxo e ficou pensando indignada na desconfiança dos velhos. Logo Undrubligu que não passava de um desmancha-prazeres.
Já a Tia Ranglabiana estava mais curiosa com a história de Zéfinêta.
- E ele vem mesmo morar aqui?
- Você não ouviu daqui de cima?
- Como ouviria se ando meio surda? E mesmo estava mariscando uns pernilongos tão distraída que nem prestei atenção a mais nada.
- Pois vem amanhã mesmo. Undrubligu não se dava por satisfeito.
- Tome cuidado, menina. Tome cuidado. Zéfinêta ficou mais que contrariada.
- O senhor viu o homem, viu? Ouviu como ele falava, ouviu? Então por que fica dando palpite à-toa? Da sua fala para a dos outros homens vai uma diferença de mosquito para gafanhoto.
- E o que entende você por fala diferente de homem? Como se conhecesse muito a vida!...
- Ora, a gente fica escutando quando passam os homens na estrada e o feio das coisas que eles dizem. Quando é vaqueiro, nem se pode repetir sem se corar. Quando é caminhão que fura o pneu, pior ainda. Quando os carros de boi atolam, os homens dizem horrores. Para não citar quando eles passam de volta, no domingo, com a cara cheia de pinga, brigando e querendo se matar. Pois então como não conheço os homens?
Deu um suspiro que fez a velha Ranglabiana ajeitar os óculos para observar a sobrinha.
- Esse não, é diferente. Fala tão macio, tão bonito, tão quentinho que parece música. Tão bonito como quando o vento geral chega cantando nas folhas dos canaviais, ou dizendo palavras de amor aos ouvidos do rio manhoso.
Demorou-se um pouco e continuou a dissertar, causando espécie ao velho Undrubligu que durante toda uma longa existência nunca deparara com semelhante coisa. Era o mal do modernismo.
- Amanhã cedo vou continuar escrevendo nas folhas mais distantes, os recados que ele pediu para dar aos pássaros. Vou levantar escurinho ainda. Mal os galos dos índios despertem a madrugada.
Deitou-se espreguiçando e apoiando a cabeça nos bracinhos.
- Mesmo que ele me matasse a pauladas ou a pedradas, não teria medo. Pelo menos foi alguém que me deu atenção. Quem me falou até hoje sem me recriminar ou me chamar às falas? Falou ternura, por falar. Ainda por cima disse que eu era uma rainha. Inventou por muito tempo até que descobriu o nome que só as estrelas do céu têm o direito de receber: "Zéfinêta B".
Quarto Capítulo - O Sorriso de Deus
SE uma simples vela dá contento e ameniza a solidão, o que se diria da fogueira que Frei Abóbora fez com cuidado, queimando as achas de lenha com ternura. Visto que as árvores tinham sido vivas, criaram ninhos de passarinhos, deram sombra e frutos. Mortas, porque pelas leis fatais da natureza todas as coisas se acabam, mesmo assim ainda davam fogo e calor a quem precisasse. Consumidas em chamas, na manhã seguinte seriam um montão de cinzas que a mão do vento espalharia em todas as direções para adubar a terra e criar novas árvores. Pensando nessas coisas que pareciam muito simples, mas não eram, Ab, quando riscou o fósforo para acender a irmã fogueira, fê-lo com um cuidado de vidro e procurou o cantinho em que ela não sofresse tanto.
Agora, sentado em sua velha espreguiçadeira, obra e presente de Tia Estefânia, olhava o céu, farinheiro de estrelas emborcado, céu tão negríssimo que já nem havia imagem poética na terra, na língua dos inspirados, para louvar sua plenitude e beleza.
Verdade seja reconhecida que aquela benfazeja situação de suavíssima indolência fazia bem à alma, porém começava a alastrar um cupim enorme na vontade de fazer as coisas. Dito e explicado. Quando saía da selva direto para a cidade, vinha com uma coragem incrível, torrado de sol, embebido de húmus e seiva da selva, conseguia tudo ou quase tudo na medida do plausível. Agora não, ia deixando, ia ficando, ficando, e quando quisesse mesmo empreender o que tanto precisava, tornava-se até indeciso por onde atacar.
Até as estrelas de Deus lá em cima deviam estar comentando.
- Espere só, Abóbora, que essa boa-vida vai acabar!...
- Eu sei. Por mim, já tinha acabado desde que deixei o Bananal. Voltou a olhar o fogo que um ventinho afiado empurrava para
todos os lados, saltitante, dando tons verdes e azulados nas chamas.
Nessa hora, Zéfinêta "B" estaria no maior dos sonos, lá em cima na parede que tinha a janela da frente. As outras também. Engraçado como os bichos conversam, querem carinho. Remordia-se num remorso inútil das maldades que fizera quando menino, no Norte, matando nos coqueiros com golpes de baladeira, as coscorosas lagartixonas. Tacava a pedra bem na espinha e a pobre quebrava pra trás, caindo no chão e estremecendo a cauda e as patinhas. Felizmente que Zéfinêta e as outras não precisavam saber de nada disso. Confessava ainda esse pecado-menino à benevolência do Senhor Deus.
Sorriu devaneando coisas sem maldade. Até ao contrário. Mas os bichos conversavam entre si. Trocavam impressões sobre os humanos. Jurava que sim. Senão por que então começaram a aparecer passarinhos que nem existiam antes à volta do rancho? Veio uma rolinha fogo-apagou e estudou o ambiente. De tarde, já havia pelo menos um número de três ciscando, comendo pedrinhas no terreiro. Falou com elas com muito jeito. Já na manhã seguinte, os ânus pretos souberam da história e de tarde vieram os brancos barulhentos que caçavam lagartas nos galhitos do mandiocal. Eles levaram a notícia mais longe porque viajavam muito mais pelas matas.
- Vocês viram o homem?
- Não ainda.
- É bom?
- É. Só fala por música. Anda como um velhinho que só tem bondade.
- E que é que ele faz?
- Dá comida. Deixa arroz...
- Júri ti já sabe?
- Deixei recado na porta dela.
E apareceu Juriti, rola-roxa, mais fogo-apagou, alma-de-gato, de cauda tão linda, que nem comia nada que Ab deixasse, mas vinha enfeitar e fugir da maldade dos meninos com estilingue. Corrupião, pardal, um passarinho meio parecido com cambaxirra, sanhaços belíssimos, xexéus à vontade. Tudo numa alegria louca, fazendo barulho desde o alvorecer até à última gotinha de sol.
Cotia arisca vivendo sempre à sombra e na umidade do sombreado mandiocal comentou para uma lebre acinzentada:
- Pode ficar em paz, que o homem é bom que dói. Traga os preás e os porquinhos-do-mato para apanhar sol pelos caminhos que nada acontece.
- E quanto tempo vai durar tudo isso?
- Que eu saiba, não sei. Mas enquanto durar eu e minha família todas as tardinhas sairemos de braços dados a passear por aí, roendo o que mais nos der no apetite.
A velha Ranglabiana com o velho Undrubligu podiam passear sem susto os velhos e paralelos reumatismos pelo solzão de meio-dia.
Zéfinêta, que menina danada, tão nova ainda e sabia distinguir de longe coisas que eles, os velhos, nunca tinham descoberto. Enfim...
Um mundo de calangos coloridos rodopiava brincalhão pelo quintal, debaixo do pé de amarelão. Ab pensava. "São criancinhas que brincam de roda e de pega-moleque. Tudo igual à gente. Só precisa a gente saber espiar".
Calango falou para lagarto.
- Venha bobo. Tá prá nós. Traga a sua família para cá. Mude-se. Faz de conta que você tirou umas férias de verão. Fale com os camaleões medrosos que isso se tornou uma música de flauta-doce.
- O homem toca flauta?
- É como se tocasse flauta-doce. Sua voz é de música.
E foi por isso que até Execrundo, seu Execrundo, que era o patriarca dos lagartos, deu para cochilar ao sol, no barranco do Poção.
Tijuassu lerdo, lerdozíssimo, arrastava o corpo grande pelo terreiro fazendo um risco fino com a cauda, marcando na areia sua belíssima passagem.
E as lagartixas? Pronto. Eram umas doze agora. Sendo que Zéfinêta continuava como a rainha absoluta. E ela sabia disso. Se metia em tudo. Acompanhava-o por todo o canto. Se ia para o terraço ela aparecia na parede, esperando sempre uma conversa. Se caminhava pelo lado do portão ela subia pelo telhado e ficava no seu ponto de observação. Se entrava no quarto do lado da cozinha para desenhar, Zéfinêta vinha se chegando, se chegando e ficava até em cima da mesa de carpinteiro que servia de base para os seus desenhos. Sentava em cima dos papéis, ficava junto dos lápis. Chegava até a dormir, a cochilar indiferente. E as outras? Bom. Tinha uma curiosíssima que se chamava Mata-Hari que era uma espiona danada. Quando ia fazer a barba defronte do espelhinho, lá aparecia ela, surgindo não se sabe de onde e ficava vendo o seu movimento sobe-e-desce contra os pêlos da barba. Essa gostava de olhar tudo ficando sempre de cabeça pra baixo. Questão de gosto não era para discutir. Depois tinha as gêmeas Xittitinha e Gramofona. A última sempre custando a se acostumar com ele. Como se o visse pela primeira vez. Mas Xittitinha, essa não, era uma doçura de inocência. Ficava a vida inteira olhando miudinha, posto que era quase recém-nascida, para os seus passeios tomando banho de sol em pêlo. E como gostava de cantigas! Ab descobrira que quando ele cantarolava fado imitando a voz dos portugueses, ela ficava tão fascinada que saía da parede e se postava na porta. Então dava-se a "melodia", Zéfinêta enciumada descia de carreirão a parede e punha Xittitinha em fuga. Mas o mais extraordinário era o poder de comunicação delas, entre elas, no sítio. Quando dava uma hora, Ab se dispunha a caminhar o quilômetro que o separava do hotel. E quando se aproximava também do portão do sítio distante mais de quinhentos metros, sabia que a Porteirina já o aguardava. Porteirina era uma lagartixa meio lânguida que habitava num grande buraco da porteira, que para sua felicidade ainda não tinha sido descoberto pelos indiozinhos que às vezes vinham visitá-lo. Pois bem, logo que saía e pegava a grande trilha entre o mandiocal, Zéfinêta telefonava pelo arame farpado para Porteirina. E ela ia esperar por sua parcela de música.
- Bom dia, meu amor, como vai? Cuidado que vou abrir o portão. Até amanhã, meu bem.
Porteirina ficava em êxtase acompanhando o homem que se afastava. Ab dava "até amanhã" porque sabia que na volta ela não mais estaria ali. Com o sol quente sumia para aproveitar a sesta tão cômoda.
Mexeu-se na cadeira. Quase que cochilara. Era bom ficar pensando assim, sem nada de obrigação, sem nada de coisas feias. Aproveitava o máximo que podia. Fechou os olhos para que a fogueira descansasse um pouco de seu olhar. Prestou atenção no mundo de gritos e barulhinhos diferentes no escuro. Sobressaía-se, em maior tom, o latejar da fonte. Às vezes seus murmúrios eram tão extravagantes que imitavam a fala humana. Ou não seriam as vozes dos mortos que perambulavam gravadas no éter? Talvez a alma penada de Manuel do Poção que diziam ter enterrado ali por aquele mundo um tesouro encantado?
E os peixes? Nessa hora deveriam estar dormindo. Os meus peixômetros, como os chamava. Pois língua de peixe é muito diferente das do mundo de fora. Uma língua de lenda, macia, subaquática... Até com eles já fizera camaradagem. Eles conheciam a hora marcada para cada coisa. Quando Ab lhes dava restos de comida ao entardecer. Quando de manhã ao fazer as abluções lhes levava punhados de aveia. E quando retornava do almoço as mãos cheias de farinha. Ficavam nadando num canto, esperando aflitamente. Era aquele montão prateado se movimentando impaciente. Pior ainda eram os pobres mandis que não podiam subir à superfície e ficavam vorazmente aguardando alguma migalha que submergisse. Precisava mergulhar a mão cheia de alimentos e abri-la bem no fundo, para que os esganados de cima não lhes tomassem também o pequeno quinhão. Depois dava gosto quando ia banhar-se. Em vez de bicá-lo, mordê-lo ou pinicá-lo, como faziam no começo, sabendo-o amigo e protetor, eles vinham nadar à sua volta, passando por entre seus braços e suas pernas. Já compreendiam uma brincadeira de Frei Abóbora. Quando ele fingia que queria pegar algum. Vinham até provocá-lo. Ficava um pequeno bando perto de suas mãos, esperando. Quando ele fazia o gesto de segurá-los, espalhava peixe por todas as bandas, para logo em seguida recomeçarem tudo...
Era a vida. A vida mansa, macia, gostosa. E se não fossem as picadas dos borrachudos e das infames carapanãs, o paraíso terrestre não se distanciaria muito dali.
Dizia Bernadette de Soubirous que uma alegria que se dá numa face humana é traduzir, ver o rosto de Deus. E então a alegria e o sorriso que podia tão simplesmente produzir nos bichos o que seria? Sem dúvida a face dos anjos. Sim, a bela face dos anjos que significava sem esforço um trailler para o mais lindo sorriso de Deus.
Por isso sorria quase na sombra, porque naquela semi-inconsciência, esquecera-se de alimentar o irmão fogo.
Vinha um vento agora que ninguém esperava. Não conseguia abrir os olhos. Sentia-se carregado pela velocidade. Quase tonto de prazer.
- Você está correndo muito, querida.
- A mesma velocidade, Baby. Somente que ò vento aumentou com a proximidade do mar. Abra os olhos, preguiçoso.
Viu ao longe as luzes do costão. Casas que se distanciavam, iluminadas num mundo incrivelmente grande.
Pousou docemente a mão sobre as pernas de Paula.
- Será que você já descobriu que eu estou loucamente apaixonado por você, meu amor?
Tirou a mão da direção e afagou a dele.
- Se não fosse segredo eu diria que sinto quase a mesma coisa.
- Por que você achou de viajar tão de noite? Podia ser amanhã.
- Deixe de reclamar. Você dormiu quase todo o tempo da viagem. Nem sentiu a descida da serra. Vim devagar por causa da cerração.
Acendeu dois cigarros ao mesmo tempo e colocou um nos lábios de Paula.
- Como você sabia que eu queria fumar?
- Só se eu não conhecesse você tão bem como eu. Ela deu uma risada feliz.
- Baby, você vai adorar a casa.
- De quem é essa agora?
- Papai construiu-a para mim, fazendo todas as minhas vontades. Eu que estudei a planta, escolhi o local. Não vou contar para não tirar a surpresa.
- É mais bonita do que aquela da Gávea?
- Eu gosto mais.
- Tão bonita como o seu apartamento na Higienópolis?
- Outro gênero. Baby, posso lhe fazer uma pergunta?
- Claro.
- Você está satisfeito com aquela lata de sardinha onde você mora?
- Bastante. Não posso viver além das minhas posses.
- Oh! Baby. Como você é idiota!...
- Meu apartamento tem lugar para eu desenhar. Tem uma pequena cozinha. Um bom banheiro. Um quarto confortável com uma bela cama. E tudo fica enorme, imenso, infinito, quando você vai lá. Nem o céu com todas as estrelas consegue ficar maior. Porque você é que engrandece tudo. Você é quem faz a minha vida, vida.
Paula foi parando o carro. Saiu da pista e encostou-o.
- Que foi?
- Você ainda pergunta o que foi? Depois do que eu ouvi acha que poderia continuar guiando? Tomou o rosto do rapaz entre as mãos e trouxe-o para si. Ficaram abraçados. As mãos dele penetravam pelo decote do vestido e alisavam suavemente os seios duros de Paula.
Não podiam dizer mais nada do que aquilo que disseram.
- Baby, você me ama?
- Paula, Paule, Pupinha.
Ficou alisando os cabelos dela, sempre mais lisos, mais selvagens e independentes.
- Vamos, senão nunca que chegamos.
- Chegamos sim, querido. É só dar volta àquela curva. Riram-se e ela principiou a guiar, indo lentamente, não libertando
a cabeça que se achava encostada, quase deitada no seu peito. Dirigia com uma das mãos e a outra acariciava o rosto do rapaz.
- Chegamos, Baby. ri O carro parou.
- No céu?
- Quase, querido, mas você como cavalheiro precisa ir abrir o portão do céu, pois dei folga hoje a São Pedro.
Ele desceu e descerrou o grande portão. Voltou ao carro e Paula começou a descer uma grande alameda de eucaliptos que faziam uma sombra escura sobre a estrada.
- Não vai fechar o portão?
- Amanhã Dambroise fecha. Irritou-se um pouco.
- De novo ele?
- E quem mais? Alguém tem que cuidar da comida. Depois ele é fortaleza de discrição. Você se esquece, querido, que sempre que saímos, você pede para dispensar caseiros, empregados e tudo?
- É verdade. Tinha me esquecido disso.
- Mas não se importe, porque Dambroise não vai estragar a nossa lua-de-mel.
O carro parou e a porta se entreabriu. O velho Dambroise estava serviçal e sorridente. Estendeu a mão a Paula.
- Boa viagem, madame?
- Esplêndida. Um pouco de neblina na serra.
- Monsieur, também?
- Dormi o tempo todo.
Dambroise apanhou as malas. Como sempre Paula também tinha trazido outra mala para ele. E não adiantava nada discutir.
Foi examinando a casa. Três andares na encosta. Só os caprichos de Paula descobriam aquelas coisas.
- Em cima, os nossos dormitórios. Aqui, sala, terraços de vidro para o mar. Sala de refeição. Embaixo, salas de esporte e...
Ouviram os passos de Dambroise subindo com as malas, na escada. Paula tomou o rapaz entre os braços.
- Está gostando?
- Muito.
- Tem uma coisa ali que você vai adorar.
Levou-o ao terraço e ligou uma luz. Embaixo havia uma piscina recortada entre as pedras. Depois uma escadaria de grandes lages que atingiam uma praia particular.
Ficou pensativo.
- O que foi?
- Só imagino os tubos que você gasta para conservar essa maravilha.
- Por que você há de se preocupar com dinheiro, quando dinheiro não precisa preocupar? Tenho tudo e no momento divido com você. Por que botar fora o que é meu? Pensei levar você para conhecer uma propriedade minha em Cabo Frio. Mas lá é meio mixuruca. Nem piscina tem.
Continuava ensimesmado.
- Não fique assim, Baby.
Resolveu estragar o "motivo" da vinda deles.
- É que não entendi o motivo de umas férias nessa época. Paula afastou-se meio decepcionada.
- Não desconfia de nada?
- Que eu me lembre, não.
Paula afastou-se e ficou espiando a beleza do mar iluminado, colando o vidro ao seu rosto. Guardou silêncio.
Ele colou-se ao seu corpo, e enrodilhou-a com os braços, enfiou o nariz em seus cabelos e embalou-a lentamente. Ela deixou-se levar quase que indiferente.
- Sabe, Baby, às vezes eu penso que sou uma tola.
- Por quê? Ainda duvida que eu sou seu?
- Não é isso. A natureza feminina é cheia de pequenos mistérios. E isso não é culpa sua.
- Quantas vezes eu já disse que meu coração é uma grande banana, Pô. Você descascou-o e o foi comendo, comendo. Só deixou um pedacinho pra mim. E nesse pedacinho que é meu, assim mesmo só existe você.
Dambroise descia a escada.
- Preparei uma ceia para a senhora, Madame.
- Está bem. Dambroise. Dentro de meia hora. Precisamos nos preparar.
Subiram a escada sem nada dizer. Paula ia na frente. Abriu a porta de um quarto.
- Esse é o seu.
A sua mala estava entreaberta.
Segurou Paula pelo pulso. Olhou a mala e sorriu.
- Ali tem tudo que você gosta que eu goste?
Ela fez sim com a cabeça. Uma suave tristeza tinha-lhe ensombrecido o rosto.
Puxou-a para si. Sentou-se na cama e encostou o rosto no ventre da mulher. Depois ergueu os olhos para Paula. Paula chorava.
- Que foi, Pupinha? Tirou o lenço do bolso e enxugou-lhe docemente os olhos.
- Que tristeza é essa? Que veio assim tão de repente? Oh! Paule, Paule. Não quero ver você assim.
Ela se recompôs.
- Gosta do quarto?
- É sempre você. Vamos ver o seu.
Saíram para o quarto em frente. Paula abriu as portas par a par.
- Gosta?
- De novo é sempre você. Riu.
- Onde afinal vamos dormir? Você no meu ou eu no seu?
- Faz diferença?
- Nenhuma.
- Vamos nos preparar para jantar.
Jantaram quase em silêncio. A conversa quando aparecia vinha repleta de assuntos sem grande interesse. Paula continuava amuada.
- Trouxe uma porção de coisas para ler. Se você visse a mediocridade dos contos que os nossos escritores dão para os jornais. O pior é o que o bobão aqui fica encarregado de ilustrar tais maravilhas.
Ela nada disse. Ele pensou no engraçado emprego que Paula lhe arranjara. Também o jornal era de um primo. De maneira que seu trabalho não tinha horário, não tinha data, não tinha nada. E se não fizesse força mesmo, nem precisava ir trabalhar.
Mudou de assunto.
- A ceia estava ótima.
- Dambroise faz tudo na perfeição.
- Mas você quase não provou.
- Fiquei um pouco cansada com a viagem. Vamos dormir, querido?
Acompanhou assobiando de leve. Sabia que Paula estava sem nenhuma receptividade.
Pararam ambos em frente da porta dos seus quartos.
- Quer que eu vá lhe dizer boa noite?
- Não, querido. Logo que acabe, virei dizer boa noite a você. Ele entrou no quarto e principiou a desmanchar a mala que Paula
lhe trouxera. Nem precisava saber o que significava. Era um mundo de tanguinhas, shorts e biquínis. Todos com as cores que Paula estudara e que lhe ficariam melhor assentadas. Procurou rapidamente, porque tinha certeza que havia um pijama de seda azul-claro. Encontrou e sorriu. Levou o pijama contra o rosto, ternamente. Bobinha! Sorriu de novo pensando que seda era a única coisa na vida que alisava sem interesse algum.
Desfez os macios lençóis de linho, e depois de enfiar-se no pijama azul-claro, acendeu o abajur e começou a ler enquanto esperava Paula, um daqueles enfadonhos contos. Leu. Parou. Olhou o relógio e sentiu que Paula estava demorando demais. Tornou a prestar atenção no que lia, mas os olhos iam se tornando pesados. O vinho do jantar e a mocidade, misturados com viagem e emoções ternas, aprisionavam os olhos dentro das suas pálpebras. Cada vez mais. Cada vez mais.
Quando Paula entrou no quarto, ele dormia com os papéis espalhando-se pelo chão. Sem ruído, ela abaixou-se e juntou as folhas esparsas.
Ficou de joelhos contemplando a beleza do amante. Os cabelos alourados sobressaindo no pijama de que ela mais gostava. Seus olhos se molharam novamente. Não o tocaria de maneira nenhuma. Odiava-se por ser tão romântica, estüpidamente romântica. Não gostava de perder uma oportunidade na vida para que um dia não viesse a sentir falta daquele momento desperdiçado. Colocou as folhas sobre um móvel e antes de apagar a luz contemplou ainda uma vez o rosto docemente adormecido.
No seu quarto, ainda sentindo as lágrimas descerem, deitou-se, colocou água num copo e tomou um comprimido para dormir. Mesmo assim sabia que fungaria muito tempo como a criatura mais infeliz do mundo, até que o sono lhe viesse.
Descerrou a cortina com estrépito. O sol entrou selvagemente no quarto de Paula. Fazia um barulho danado.
- Dez horas! Alguém vai me pagar agora o bolo que me deu. Paula acordou meio assustada. O despertar meio difícil por causa
do barbitúrico. Mas quando despertou, teve que curar de uma vez só o mau-humor da véspera.
Ele viera vestido com as roupas de Dambroise e agora trazia a bandeja até sua cama. Sobravam-lhe as roupas na barriga e esticavam-se nos ombros. Com um guardanapo na mão. Na bandeja havia uma rosa vermelha, quase negra. Um copo de laranjada e um envelope.
Sentou-se e recebeu o beijo na testa.
- Você vai me pagar, sua vigarista.
Sentou-se a seu lado na cama e enquanto ela servia a bebida ele alisava-lhe a testa com a rosa.
- Que é isso?
- Sei não. Deve ser algum recado do Dambroise. Deus do céu como são as mulheres. Nem notou que a laranjada tinha champanha e muito mais ternura porque fui eu quem a preparou!
Retirou a bandeja, deixando-lhe a rosa e o envelope.
Sem pressa Paula rasgou o envelope e desdobrou o papel. Dentro havia um desenho de dois corações vulgarmente entrelaçados e uma frase: Paula, Paule Toujours. Felicidades pelos três anos maravilhosos que passamos juntos!
Paula desatou a chorar.
- Ó Baby, Baby. E eu pensei que você tinha esquecido. Abraçou-se e agora ele também sentia os olhos marejados.
- Como poderia eu esquecer-me, tontinha? Ela soluçava, mas agora de felicidade mesmo. Ele apertou-a mais fortemente.
- Ontem eu estava que nem podia mais me conter. Se você tivesse ido me dar o boa noite prometido, eu não agüentaria e confessava a você que não havia esquecido.
- Tira essa roupa horrenda, Baby, senão penso que estarei traindo você com Dambroise.
Paula armara um guarda-sol de praia todo cheio de riscas coloridas.
De olhos semicerrados mirava a indolência do corpo com a sonolenta preguiça da alma. Deitara-se numa lona de praia e procurava poupar-se dos raios de sol. Ela sabia que depois de uma certa idade, as mulheres deveriam resguardar-se mais do sol. Pequenos mistérios da natureza e da defesa feminina.
Se existia felicidade, felicidade era aquilo. Calma, contente, perto de quem gostava e num lugar que adorava, desde mocinha.
Onde estaria ele? Colocou os óculos escuros para descobri-lo. Não tinha medo de perdê-lo, mas queria sentir-se sempre mais perto da sua presença. Muitas vezes ele tivera pequeninos casos sem importância. Mas voltava para ela com os olhos mais humildes e naturais, pedia um perdão muito a seu jeito e jurava que ela seria sempre a Paula, Paule, Toujours, Pô, Pupinha...
Sorriu lembrando-se de uma feita que aparecera uma bailarina exótica por quem ele ficara fascinado. Tiveram um arrufo de uma semana. Depois ele voltara com um ramo de rosas amarelas e depositara aos seus pés. Em seguida pousara a cabeça em seus joelhos e olhando com o seu modo de urso bravo, murmurara:
- Pô, ela não gostava de tomar banho.
Lá estava ele. Baby era uma criatura admirável. Não errara quando da vez primeira o tratara assim. Reconhecera no rapaz, sem se enganar em um só dos seus julgamentos, a maravilhosa surpresa que ele poderia oferecer em cada um dos seus gestos. Mistura de índio, apesar do tipo alourado, tinha uma alegria cativante e uma espontaneidade que encantava. Podia dizer as maiores barbaridades, comentar a maior pornografia, que parecia continuar puro e inviolável. Sua alma era soberbamente forte e segura de si.
Tornou a rir lembrando-se de uma das suas explosões de naturalidade. Uma vez lhe dissera na praia:
- Vou fazer pipi.
E fez. De repente soltou uma exclamação de prazer.
- Repare, Pô. Estou urinando a coisa mais linda do mundo. Só gotas resplandecentes de berilos e topázios.
E aquilo contra o sol parecia corresponder bem à verdade.
Lá estava ele como um índio, como um gato selvagem pesquisando, descobrindo lugares que não conhecia ainda. Depois também como um bicho, como um índio, como um gato selvagem, escolheria para si os recantos que mais apreciasse.
Sentindo-se observado, de longe, na crista das pedras, ele acenou-lhe um adeus de simpatia. Depois arremeteu-se aos pulos sobre as pedras e veio em direção à praia. Chegou ofegante perto de Paula.
Ajoelhou-se e abaixando o corpo sobre Paula, com o dedo abaixou a parte superior do seu biquíni, beijou-lhe, primeiro um dos seus seios, logo em seguida o bico do outro. Depois, desceu mais e deu una cheiro no seu umbigo. Só então inventou uma coisa linda e falou.
- Minha rosa, minha flor, minha nega, meu amor. Sentou-se junto de Paula e sorriu.
- Você dormia tanto quando entrei no quarto que não acordei. Fiquei com pena. Sapequei-lhe um beijo no bumbum e saí de leve, devagar.
Paula alisou-lhe as costas quentes de sol.
- Baby, bonjour quand-même!...
- Pomba! se o que eu fiz não foi bom dia, o que mais quer você?
- Venha cá.
Enrodilhou-se como cobra no pescoço de Baby.
- Calma, Pô. Dambroise pode estar espiando.
- Que espie.
Mordiscava-lhe voluptuosamente as orelhas. Só conseguia murmurar:
- Baby! Baby!...
- Paula. Dambroise...
- Dambroise é pago para ser cego, mudo e surdo. Depois, deitados lado a lado ele perguntou baixinho.
- Você viu a piscina, Pô?
- Não, não vi, que é que tem?
- Está suja de limo.
- Mandarei limpar.
- Não. Não é. isso.
- O que, então?
- Escrevi uma palavra no limo, bem grande.
- Que palavra?
Ele passou os lábios de leve sobre o seu pescoço e falou o mais baixo possível.
- Toujours.
Quinto Capítulo - Histórias
Acordou com o barulho da lata de goiabada sendo empurrada, arrastada pelo chão de terra batida do terraço. E nem bem manhã era. Deu uma risada gostosa. Depois da lata foi o prato de barro que os índios lhe deram de presente. Este também rolava quase. Ficou um momento se espreguiçando todo antes de tomar uma atitude. O prato e a lata pararam de ser molestados. Então vieram em bando, debaixo da janela e reclamaram arrulhando.
Levantou-se de vez, empurrou o velho mosquiteiro e abriu as bandinhas da janela. O ventinho pequeno entrou no seu quarto, antes borrifando o seu rosto, como uma flor de frio.
As juritis voaram para cima do mandiocal e continuaram reclamando.
- Pois é pleno meio-dia e você ainda dorme? Não vê que estamos com fome? Fica aí dormindo e se esqueceu de encher as vasilhas de arroz, seu preguiçoso!
- Calma, meninas. Já vou. Já vou. Vocês não poderiam ter esperado um bocadinho mais? Não sabem que preciso descansar bastante e ficam me importunando a essa hora da madrugada?
Falava para acordar a manhã com ternura. Fabricar ternura enquanto podia. Porque as dores e as horas amargas, a vida por si só se comprometia em fabricá-las. Nem mesmo acreditava tanto em sua fraqueza. Já que sentia até elasticidade nos músculos. Do mesmo jeito que perdera as forças, sentia-se feliz em recuperá-las.
Abriu o quarto, entrou na cozinha e nessa hora já as juritis em bando, tinham se avizinhado, morando nos galhos da amoreira copada.
Veio de lá sacudindo o arroz descascado dentro da lata de banha, para que elas diminuíssem mais a sua esganação.
Encheu ambas as vasilhas. Procurou o canto do terraço, para que os bichinhos se servissem à vontade, e sentou-se na espreguiçadeira olhando. Apostava como primeiro desceria aquela cachorrona peituda, que devia ser a chefe das outras.
- Oi... Oi... Não disse?
Ela viera tão macia, que nem voara. Dera mais um pulo do que um vôo. Espiou seriamente para ele, como fazia todos os dias. Sondou a existência da comida, deu um arrulho contando para as outras.
- Podem vir, que o bobão já encheu as vasilhas.
De uma em uma vieram as outras naquele pequeno ruflar surdo. Umas se serviam da lata de goiabada, outras invadiam o prato de barro, jogando grãos de arroz no chão.
Frei Abóbora nem se movia para gozar o espetáculo. Depois que achou que elas já tinham comido bastante, e elas também acharem, comentou:
- Bem. Agora vocês deixem um pouco para as rolinhas que acordam mais tarde. Tá bem?
Elas se afastaram em grupo e começaram a cantar balançando o corpo. Repetiram os arrulhares um minuto no máximo e pararam. Frei Abóbora respondeu-lhes.
- Não há de que. Não há de que.
Elas levantaram vôo, quase ao mesmo tempo e se foram em direção às grandes árvores do rio.
- Tadinhas. Logo, logo eu vou embora e ninguém mais vai se lembrar de vocês. A não ser os que lambem os lábios vendo vocês numa frigideira, queimadinhas, tostadinhas, torradinhas. Também não tem importância. Depois de uma semana se tanto, vocês me esquecem. É da vida esquecer. Felizes os que assim podem fazer...
Apanhou uns restos de comida, umas sobras de arroz dormido, a escova de dentes, o sabonete e uma toalha. Desceu em direção ao poção. Sem sol ou porque ainda estivesse adormecida, a fonte caía num minúsculo fio dentro do poção. Talvez com frio e medo de mergulhar na água gelada da noite.
Oral Nem tinha dúvida que eles estavam lá. Podia até adivinhar que faltava quinze para as seis, pela pontualidade deles. Resolveu judiar. Fingiu que não enxergava a grande impaciência movediça. Desceu o caminho do regato e foi lavar-se num poço menor.
Quando deu fé, os danados tinham descido de poça em poça pelo fio d'água e estavam nadando num lugar bem raso, e bem próximo às suas mãos.
- Seus atrevidos de Deus! Não podiam esperar um pouco, não? Sorriu enlevado porque agora, bastante atrasado vinha descendo
pela mesma água o pequeno mundo de mandis do poção.
Acabou de lavar-se e quando mergulhou a escova de dente cheia de pasta usada, eles avançaram e recuaram decepcionados.
Levantou-se e caminhou enquanto caminhava, também, o regatinho. Lá vinham em alegria, brilhando nas suas escamas prateadas. Depois com mais dificuldade ainda, os mandis que subiam contra a corrente.
Foi para o cantinho predileto e começou a jogar punhados de arroz para eles. Que folguedo louco! Quantas cambalhotas e reviravoltas ligeiras. Uns avançavam para tomar um pedaço maior do outro. Era tudo uma confusão.
- Agora preciso jogar mais lá para o fundo para dar tempo aos outros.
No mesmo momento que pensava, agia. Encheu então as duas mãos de arroz grudento e mergulhou-as bem fundo, entreabrindo-as de um jeito que a comida permanecesse presa. Os bichinhos vinham mordiscá-la. Se abrisse a mão de uma vez, a comida boiaria e eles continuariam em jejum. Mas precisava prestar atenção, porque quase sempre um daqueles moleques do alto, não satisfeito com a sua porção, mergulhava para atrapalhar a vida dos outros.
- Agora que todos comeram, toca nós dois, Frei e Abóbora a fazer um cafezinho pra nós mesmos.
Voltou à cozinha, subindo a ladeira com uma certa facilidade agora.
Nem adiantava procurar pelo mundo das lagartixas. Era muito cedo. Elas só apareceriam também uma de cada vez quando o sol estivesse vermelho como uma amêndoa madura.
- Deixa?
- Não.
- Por quê?
- Porque não.
- Se fosse índio lá de baixo, você deixava.
- Não deixava não.
- Então você não é amigo.
- Sou.
- Mas não gosta da gente.
- Gosto sim.
- Então você deixa?
Frei Abóbora sorriu da teima, mas não se decidiu.
- Não. E já disse que não.
Eram três meninos lindos. Três indiozinhos morenos como seriam os anjos se fossem morenos. Chamavam-se, Tenraluna, Rauacate e Cumarri. Vira-os também nascer. Sabia que um tinha o apelido de Retô-ti porque caíra de cima da casa e machucara a cabeça. O outro, era Diorossá-dó, porque fora mordido por um cachorro e o outro de Mauá-dó, porque cortara-se com a faca. Mas todos eles ficavam muito zangados se alguém falasse nos seus apelidos. Poderia receber uma pedrada ou mesmo uma paulada.
Eles não desistiam e Frei Abóbora também não deixava por menos.
- Só hoje.
- Só quando eu for embora. Quando Dearã caticará arakre.
Raucate torceu o beiço contrariado.
- Você nunca vai embora.
- Logo, logo. Quando você menos esperar.
Tenraluna, que era o maior, resolveu tentar de outro jeito.
- A gente pega os peixinhos, uma porção, separa cinco para você. Mamãe frita eles, bem sequinhos, bem torradinhos e você quando comer faz nhequet-nhequet...
Riu-se da engenhosidade do plano e continuou.
- Pois então? Você não gosta?
- Gostar bem que gosto. Mas não quero que pesquem meus peixinhos. Ora que diabo! O rio está cheio!
- Mas esses são mais gordos e mais fáceis de pescar.
- Já disse que não e não.
Como envolvidos por um mesmo choque elétrico os três viraram-se ao mesmo tempo e portando as varinhas de pesca se encaminharam para o lado do mandiocal. Mal tinham andado cinco metros e novamente tocados pelo mesmo choque desviraram-se. Então Retô-ti ou Tenraluna o mais velho, ameaçou-o com os dedos.
- Você não é amigo. Logo eu vou contar para Estefânia, Fio e Tanary.
Que danadinhos, tinham ensaiado tudo antes, mas por certo não esperavam a resposta que iriam ter.
- Ah! É assim? Pois bem! Vão contar para Estefânia, Fio e Tanary. Mas vão correndo. Quero ver quando Frei Abóbora voltar da cidade, se vocês vão ganhar bolas, buna-buna, carrinhos, calções e camisas. Vão contar, vão correndo!...
Num segundo ficaram desarmados. Uma indecisão tomou conta deles e se entreolharam embaraçados.
Cumarri afastou-se desajeitado e veio encaminhando para junto de Frei Abóbora.
Ab olhava-o fingindo dureza, mas se divertindo às pampas.
O garotinho meio buchudo, meio roliço, meio tanta coisa bonita, pegou na sua mão.
- Frei Abóbora ficou teburé? Ficou? Não fique zangado não, viu? A gente estava brincando. Tenraluna não vai contar não. Nem prá Estefânia, nem prá Fio, nem prá Tanary. Está bem?
Abaixou-se e olhou a criança nos olhos. Seus olhos eram bolhas de doçura.
- Não, meu filho, Frei Abóbora não ficou zangado nem um pouquinho...
Então, para surpresa de Ab, Cumarri sorriu com os olhos, com a boca, com a sua maior inocência.
- Então, Frei Abóbora vai deixar a gente pescar os peixes?
Deu uma gargalhada tão gostosa, que precisou levantar-se para não perder o equilíbrio.
Chamou os outros e alisou as suas cabeças.
- Vamos falar de homem para homem. Mas falar duro. Eu não vou deixar mesmo enquanto estiver aqui. Mas se vocês quiserem, eu ganhei ontem uma lata de goiabada. Posso abri-la e comeremos um pedaço juntos. Que tal?
O sorriso ligou-se nos três rostos.
- Então vamos.
Foram para a cozinha e receberam seus pedaços. E como nada mais havia a fazer, deram "té logo" e partiram.
No meio do mandiocal, Rauacate perguntou para Cumarri.
- Como é que você sabia que ele tinha goiabada?
- Ontem eu vi de longe quando ele passou com a lata vermelha debaixo do braço.
- Mas como ele demora a dar prá gente. Puxa!
Ab sentou-se na espreguiçadeira olhando o vulto dos três meninos desaparecendo no verde.
Eram três meninos lindos, lindos, morenos como anjos, se os anjos fossem morenos. E ainda por cima comendo goiabada.
- Não. Eu não queria. Eu tinha ódio daquilo tudo. Ficar sentado num piano quatro horas por dia, enquanto as outras crianças brincavam, faziam um mundo de sonhos, trepando pelas árvores. Você não imagina o ódio, o rancor pela música que eu estava adquirindo.
Paula alisou seus cabelos.
- Mas por que faziam isso com você?
- Na minha precocidade eu sabia o porquê: Queixava com a minha tristeza de oito anos: "Isso é porque não gostam de você. Isso é porque você não é filho. Não trouxeram você porque gostassem de um menino; trouxeram porque você era o menino mais bonito da rua. Se fosse filho, não obrigavam a estudar piano. E se fosse feio, não o teriam trazido".
Levantou-se contrariado, sentou-se na cama e observou a mulher. Sorriu na contemplação.
- De que está rindo, Baby?
- Como você fica mal nesse cenário.
Circulou a vista pelo supermodesto quarto do hotel. Chão sujo, um tapete de cor desconhecida que quando muito se classificaria como escuro, uma mesa sem toalha, uma moringa encardida. Uma cadeira dura. Uma pia. Havia também uma toalha esfiapando-se.
Voltou a olhar mais em volta de si mesmo. Só havia a cama e Paula. Paula embrulhada num lençol grosseiro. E suas mãos bem tratadas magrifavam as costas do rapaz.
- Me conte o resto.
- Logo, logo. Estava pensando outra coisa.
- Assim como?
- Você já tinha alguma vez estado num ambiente assim?
- Se eu contar a verdade, você zanga?
- Não.
- Acho que uma só vez, quando voltava de Paris. O navio encrencou em Dakar. Eu estava muito blasée, tomei uma bruta carraspana e acabei num quarto parecido com esse... Com um lieutenant da polícia, dono de uns olhos azuis e muito charme. O quarto era parecido, só que os tapetes eram mais bonitos e havia um biombo tentando discrição. Sim o quarto era parecido, mas os homens nem se comparam...
Riu e unhou com força as costas musculosas.
- Ai, que você assim me machuca.
- Você não gosta tanto de machucar-me?
- Não assim na conversa.
Pegou as mãos de Paula e roçou-as contra o rosto. Depois falou com toda a naturalidade:
- Não gosto que as mãos tenham unhas.
- Das minhas mãos ou de qualquer uma?
- Das suas principalmente. Acho que o único lugar que não pude beijar você foi debaixo das unhas.
Ela emocionou-se.
- Oh Baby! Meu garotão lindo! Não sei o que farei sem você.
Foi a vez dele tomar o rosto de Paula entre as mãos e olhá-la sorrindo bem dentro dos olhos.
- Quer saber de uma coisa, Paula. Nunca na vida tinha tido uma mulher tão linda como você. Esse seu modo tão francês de ser. Essa sua vida cheia de garras de inútil, que você modela tão bem. Tudo existe na vida como se tivesse sido feito para você e você usa tudo com a obrigação de quem tem direito a tudo. Não é?
- Bem analisado. Mas o que me atraiu em você foi o seu modo natural de ser. Quando o vi naquela festa vestido como...
- Como, como?
- Assim meio exótico.
- Mas como? Se eu me fiz o mais elegante possível.
- Elegante você estava, porque era você, bobo. Se fosse outro, oh mon Dieu!...
Riram-se com simpatia.
- Eu quase perguntei a você porque se vestia daquele modo.
- Eu teria dito talvez grosseiramente: "meu bem eu estou na merda e não tenho outra coisa para vestir". E daí?
- Daí eu lhe daria uma cantada direta: "está assim porque quer". Passou o dedo no seu queixo.
- Uma mulher tão fina, falando em cantada.
- Perto de você posso falar qualquer coisa. Junto de você, Baby, somos tão nós mesmos...
Tornaram a rir.
- Evidentemente, Pô, eu me sinto tão bem perto de você e digo coisas que normalmente não diria. A vida se torna uma coisa tão macia...
- Qualquer mulher gosta de ouvir isso!...
- Qualquer mulher, uma ova! Nem toda mulher merece isso. Só você. Mulher a gente pega do jeitão que elas são. Ou dizendo coisas vulgares, ou pegando à tapa, ou dizendo na cara: meu bem vamos dar uma fofada?
- Então você se esforça comigo?
- Você acredita nisso? Ou duvida da minha sinceridade? Levantou-se e foi até à mesa.
- Vou fumar um cigarro.
- Um pra mim também. Mas quero que o acenda. Isso. E me coloque na boca. Obrigado. E agora onde poremos a cinza?
Ele riu.
- No chão mesmo. Hotel ingênuo não tem cinzeiro.
- Pela terceira vez você fala de hotel ingênuo. Moro num hotel ingênuo... Você não teria coragem de ir ao meu hotel ingênuo...
- Chamo assim a todos os hotéis dessa raça. Ingênuo não é o hotel. Ingênuo é o dono dessas pocilgas, que pensa que a pia do quarto só é utilizada para lavar a mão e o rosto.
Ela deu uma risada gostosíssima.
- Também você imagina cada coisa...
Fumaram em silêncio, embaçando mais o quarto.
- Quantos anjos?
- Não contei. Está ficando tarde. Que horas são?
- Sei lá. Três, quatro horas.
- Você não tem relógio? Olhou espantado para Paula.
- Me diga mesmo, querida, gente como eu tem relógio? Tem na coletividade: na Central do Brasil, no Mesbla, nas praças públicas e nas aulas da Escola. Tem também na hora de fazer a caca.
- Precisa hora certa?
- Você já imaginou um modelo, relaxar a pose e dizer para as meninas grã-finas: "com licença, mas preciso de dez minutos para ir fazer o meu pum"...
Paula tornou a rir gostosamente.
- Baby, você é uma delícia. Que jeito de contar as coisas... Quando você faz anos?
- Em junho.
- Então já passou?
-Já.
- Você receberia um com atraso?
- Um o que? Um relógio? Como paga ou como amizade?
- Ora, Baby, você é muito evoluído para interpretar as coisas tão bobamente. Quer?
- Quero. Mas só se for de um feitio?
- Que feitio?
- Quadrado.
- Quadrado?
- Eu fico horas espiando vitrinas onde tenha relógio quadrado.
- Veremos o que eu achar melhor, que lhe fique mais elegante.
- Não. Só se for elegante quadrado.
- Espere ao menos.
- Quadrado. Quadrado ou nada. Olhou o rapaz sisudamente.
- Você merece umas palmadas.
- Outras, Pô? Pupinha, só o que eu fiz na vida foi apanhar... Você não quer ir embora? Aqui só temos banheiro comum. Tão sujo, fedorento a coisas que também se fazem fora da pia, tão cheio de lodo que parece o Pantanal de Mato Grosso.
- Iremos ao meu apartamento quando sairmos daqui.
- E a Escola?
- Você só irá lá, se quiser desenhar. Por favor não vamos discutir, Baby. Um homem como você merece vida melhor, mais feita à imagem de Deus.
- Assim acharam também quando eu era menino.
Seus olhos foram se tornando sombrios, se perdendo nas nebulosidades do passado.
- Gum!... Gum!... Onde andará esse diabo de menino? Sua irmã Glória aparecera no fundo do quintal enxugando as mãos num avental sujo.
- Gum!... Gum!...
Naquele tempo nem fizera oito anos e já era o terror da rua, da escola pública, o mais briguento, o mais levado, o mais tudo. Era um reinar da manhã à noite. Fugia para a estrada Rio-São Paulo e só andava para todo canto pegando morcego nas traseiras dos automóveis e caminhões. Era dono de todos os palavrões da rua. Conhecia o mistério de cada casa. Infernizava a vizinhança. Levava carreirões dos mais velhos, xingava todo mundo. Mas quando chegava o domingo virava um anjo de ternura, apanhava a caixa de engraxar e saía pelas casas oferecendo o sorriso mais lindo e a voz mais simpática possível:
- Não quer engraxar, seu Meru? Duzentos réis. Todo mundo cobra quatrocentos. E o senhor nem precisa sair de casa.
Olhava o descendente de sírios, freguês certo do irmão mais velho que iria lhe dar uns cascudos mais tarde quando descobrisse. Besteira, com jeito e sabendo da moleza do irmão, arranjava mais depressa o dinheiro da matinê no Cine Bangu. E no meio da molecada amiga, ficava bem na frente, na segunda. De vez em quando trocavam combinadamente de lugar, entre os gritos dos cowboys e tiroteios de bandidos, para fazerem pipi que escorria pelo cantinho da parede como uma cobra fedorenta. Quando saíam, era preciso que antes de começar a sessão da noite desinfetassem o lugar com muita creolina.
Tinha que andar ligeiro, mas seu Meru camelando o corpo gordo foi se sentar debaixo da amendoeira.
- Aqui é melhor. O sol está mais frio. Abria a camisa, sentava-se no banco e punha os pés para a engraxada.
De vez em quando levantava os olhos e dava um sorriso de simpatia como para interrogar se o freguês gostava do seu trabalho. Seu Meru sorria e abanava-se com uma folha de amendoeira enxugando o peito cabeludo e negro entre a camisa entreaberta.
Gostava de conversar. Perguntava da escola. Do jogo de futebol. Se interessava pelos tempos das coisas. Tempo de bola de gude, de pião, de papagaio, de arco.
No fim dava mesmo os quatrocentos réis e perguntava:
- Cadê seu irmão?
- Tá lá prô lado do Murundu, engraxando.
- De agora em diante, vou tomar sempre os seus serviços. Você dá mais lustro e sabe conversar bonito. Seu irmão é muito bonzinho mas muito calado.
Deus do céu! Iria levar bem uns croques do irmão Totoca. Mas apanhar, por apanhar, no mínimo levava umas quatro surras por dia. Dos irmãos mais velhos, de Glória, de Rosa, da mãe quando chegasse do Moinho Inglês e do pai quando recebesse queixas chegando da fábrica. Fazia tanta arte, tanta estrepolia que às vezes apanhava sem saber por que. Outras vezes estava dormindo, já, quando o pai esquentava sua bunda com o correão. Chorava com a dor, mas logo depois já estava adormecido.
- Gum!... Gum!...
Recebera esse apelido pequeninho porque era tão cabeçudo que não podendo responder ou xingar engolia em seco fazendo aquele ruído: Gum...
Veio correndo pelo valão, onde escapulira para roubar goiabas no quintal da Preta Eugênia, que era danada de malcriada e fazia feitiço.
Antes de subir ao quintal, escorregou e caiu sentado na água suja. Pronto. Se estava sendo chamado para não apanhar, agora teria motivos para levar umas lambadas.
Deu com a irmã olhando para ele reprovativamente. Olhando os bolsos estufados de frutos.
- Outra vez Gum?
Não sabia se a repreensão se dirigia ao roubo das goiabas ou à calça suja. Ficou sem saber o que fazer, mas na expectativa de correr e de desaparecer no valão. Entretanto as mãos de Glória não tinham nem sequer uma vara, nem um tamanco, nem um cinturão. Até que ao contrário seus olhos estavam tristíssimos.
- Vamos até a cozinha. Quero falar com você.
Ficou desconfiado. Será que não havia uma armadilha na cozinha? Será que ela não queria pegá-lo lá.
- Não quer ir?
Ficou espantado. O que estaria acontecendo?
- Você não vai me bater não, Godóia?
Para seu espanto, as lágrimas desciam pelo rosto da irmã. Ela se ajoelhou e estreitou-o entre os braços.
- Oh! Gum... meu irmãozinho levado.
Soluçou um pouco, depois afastou-o segurando o seu rosto entre as mãos.
- Meu irmãozinho tão lindo! Tão inteligente. Você é um diabo, mas vou sentir tanta falta de você.
Levantou-se e puxou-o pela mão até a cozinha. Sentou-se num tamborete junto do fogão, não sem antes espiar o caldeirão de feijão no fogo.
Para diminuir a emoção ela pediu:
- Me dê uma goiaba.
Ele tirou uma porção e depositou-as sobre a mesa. Com o dedo escolheu uma.
- Coma essa, Godóia, é a mais doce.
- Como é que você sabe?
- Eu mordi todas para deixar a mais doce para o fim.
Riu da idéia e examinou as outras. Todas tinham a marca de dentinhos. Deu uma dentada.
- Doce mesmo!
- Não é mais doce e mais vermelha do que as da casa de Dindinha?
- Muito mais.
Fez uma pausa e fungou, esforçando-se para não chorar de novo.
- Gum, amanhã você precisa tomar um banho bem grande, lavar as orelhas e cortar as unhas.
- Mas eu já não tomei banho na quarta-feira?
- Não tem importância. Amanhã é sábado. Você deve ficar bem bonito porque vêm buscar você. Você vai embora.
Ficou sem entender bem. Porque tinha que ir embora? Era então por isso que Godóia chorava?
- Lembra-se do Dr. Barreto, seu padrinho que esteve aqui na semana passada?
Fez que sim com a cabeça, recordando-se da visita do padrinho rico. Do homem bonito de barba cerrada, que o pusera no colo e o beijara. Nunca antes tinha sido beijado por ninguém que não fossem suas irmãs e pela boca murcha e babada da vovó Dindinha. Parecia sentir nas faces o roçar da barba picante.
- Pois ele vai fazer com você aquilo que fez com aquela nossa outra irmã. Vai levar você e fazer estudar. Dar roupa bonita, tudo que nós nunca tivemos.
Pensou de novo no padrinho, acarinhando-lhe os cabelos e elogiando-o com voz de nortista.
- Você é um menino muito bonito. Nem parece com os seus irmãos que têm sangue de Pinagé. Muito bonito mesmo.
- Você vai ter tudo de bom, Gum. No Natal ganhará tanto presente...
Veio então a lembrança do último Natal que passara. Da maldade de criança que fizera com seu pai. Maldade que lhe acompanharia toda a vida e que iria afastar qualquer sentimento gostoso de Natal.
No dia 24, antes de dormir, combinara com Totoca que deixariam os sapatinhos do lado de fora da porta do quarto. Sabia, porque menino pobre não tem ilusões de Papai Noel, que alguém da família lhe viria colocar os presentes. Sempre fora assim.
De manhã saltou da cama, cutucou Totoca para acordá-lo e correram para ver os presentes. Os sapatos se encontravam completamente vazios.
Entreolharam-se e comentou para o irmão:
- É ruim a gente ter pai pobre...
Só então repararam que o pai estava em pé à frente deles. Olhou-o e viu-o com os olhos umedecidos e engolindo em seco. Viram que ele se afastava embaraçado.
- Você não devia ter falado, Gum.
- Eu não vi ele.
- Coitado de Papai, Gum. Faz seis meses que ele está desempregado. Não tinha dinheiro nem para comprar comida. Você é malvado, Gum.
Ficou triste e teve vontade de chorar, mas homem não chora. Saiu com a caixa de engraxate pelas ruas, com remorso danado porque olhava os outros cheios de brinquedos, cheios de bolas, cheios de carrinhos coloridos. O filho do Dr. Faulhaber ganhara uma bicicleta toda azul e vermelha e estava dando voltas no quintal cimentado. Parou espiando entre as grades. Serginho desceu da bicicleta e veio conversar.
- Você ganhou?
- Ganhei.
- É danada de bonita.
- Um dia deixo você andar nela, você quer?
- Deixa ela ficar mais velha, que eu posso cair e estragar.
- Que é que você está fazendo?
- Preciso ganhar ainda duzentos réis.
- Mas hoje é dia de Natal. Ninguém deve engraxar. Ficou triste pensando nos olhos do pai.
- Ninguém teve Natal lá em casa. Papai está desempregado há muito tempo.
O outro menino ficou com pena.
- Vocês não tiveram nem castanha, nem avelã, nem amêndoas?
- Só rabanada de pão velho que Dindinha fez prá gente tomar com café!
- Você quer que eu peça umas coisas dessas pra você? Eu falo com mamãe.
- Não. Não quero não. Sua bicicleta é linda! Eu vou ver se engraxo.
- Pera aí, Gum. Você precisa só de duzentos réis?
- Só o que me falta para inteirar...
- Eu lhe empresto. Ganhei uma porção de dinheiro. Se você não tiver dinheiro me paga em bola de gude, porque você é "rato" no jogo. Feito?
- Tá.
Correu até a venda do "Miséria e Fome", comprou o que queria e correu para casa chacoalhando a caixa de engraxate. Já estava escurecendo. O lampião tinha sido aceso na cozinha porque a Light cortara a luz.
Encontrou o pai, sentado, desanimado, apoiando os cotovelos na mesa, olhando o vazio da noite que se aproximava.
- Papai.
Ele olhou-o bem. Ficou sem jeito ante os olhos tristes.
- Que é, Gum?
- Papai... sabe... é que... eu gosto muito de você. De hoje em diante você pode me bater muito mais, que eu não me zango.
Sorriu com aquela argumentação.
Se aproximou mais e tirando as mãos das costas ofereceu o pacotinho embrulhado.
- Eu quero dar isso prá você de presente.
As mãos do pai abriram o pacote e apareceu uma carteira de cigarro.
Os olhos do pai se umedeceram, mas dessa vez era de alegria.
- Era a carteira mais bonita que tinha na venda. O pai passou-lhe a mão na cabeça.
Agora era Glória que repetia o gesto.
- Que é que você estava pensando? Nem ouviu o que eu disse, Gum?
- Ouvi, sim. Eu vou embora. Vou ganhar muita coisa. Olhou bem a irmã.
- Godóia, prá onde eu vou?
- Prô Norte. Para o Rio Grande do Norte.
Sentiu um sol deslumbrar-se dentro dos seus sonhos. Quando de noite fosse reunir-se com a turma, sentado nos batentes das portas fechadas do Cassino Bangu, como fazia toda a noite para conversar safadeza e se masturbarem em conjunto, iria contar uma coisa que ninguém poderia acreditar. Via até a cara espantada de Abel. Os olhos arregalados de Biriquinho.
- Sabe? - amanhã eu vou embora. Vou para a América do Norte. Vou ver tudo que é artista de cinema. Da janela da minha casa vou ver passar Buck Jones. Vou ver passar Fred Thompson e seu cavalo Raio de Luar.
- Você vai embora, meu irmãozinho lindo. O diabinho mais bonito, mais malcriado, mais danado que eu conheço, mas vou sentir muito sua falta.
Para não recomeçar o choro, pediu outra goiaba... Baby calou-se e olhou Paula.
- História de gente pobre, sempre é besta assim.
- Não sei porque é besta.
- Tanto é que escondo essas coisas de todo mundo e quando me lembro fico idiotamente emocionado. Quando me lembro de Glória tão linda, a única irmã loura que eu tinha...
- Por que tinha?
- Ela foi fazer uma viagem de automóvel a Petrópolis. Na volta sofreu um desastre horrível. Ficou com o rosto todo deformado. Fez uma operação para endireitar o rosto, perdeu quase todos os dentes e não os podia consertar. Ficou com uma das vistas tortas e lacrimejando sempre. Alguns anos depois suicidou-se aos poucos. Enfraqueceu-se, pegou uma tuberculose e não quis se tratar. Bem que podia ficar boa, mas não quis. Definhou. Morreu...
Baby calou-se.
- Sabe de uma coisa, Paula? Pra mim a morte tem cheiro de goiaba. Quando penso nela sinto cheiro de goiaba. Quando falam em morte lá vem aquele cheiro me perseguir. Mas vamos embora que já é noite.
- Vamos para o meu apartamento. Lá você me conta o resto, Baby. Você tem que me contar o resto.
Passou os dedos entre os cabelos do rapaz enquanto se levantava.
- Como o meu querido sofreu!...
Num canto mais confortável do apartamento divisavam o mar enorme. Um bom drink e um sofá ainda mais confortável faziam com que esquecessem a "ingenuidade" do velho hotel da Praça da República. As luzes bem dosadas davam um suave acolhimento ao ambiente.
- Pronto, querido. Num dos cantinhos de que você gosta. Você e seus cantos.
- Estranho ter sempre gostado dos cantinhos.
Paula acendeu um cigarro e falou, reclinando a cabeça no sofá:
- Nunca pensou o que poderia ser isso? Isso é timidez, Baby, ou às vezes a vontade de não ter nascido.
- Possivelmente as duas coisas juntas. Nascer é viver, e, viver segundo meu amigo Gus, viver é dor.
- Quem é esse agora?
- Santo Agostinho. Viver é desabrochar uma alma na solidão de um corpo. Pensar que você gostaria de participar cem por cento dos outros. E quando pensa ter atingido no mínimo dez por cento dos cem, quando muito conseguiu um por cento dos dez.
- Mas isso é horrível, Gum.
- Mas Gus era um santo miseravelmente lúcido e terrível. Quando eu tinha oito anos no colégio, como o Irmão da nossa classe adoecera e não comparecera à aula, nós fomos mandados assistir à aula de religião numa série mais adiantada. Foi a primeira vez, e talvez culpa da minha inteligência aguda, que tive contacto com uma máxima tão cruel como a de Gus. O Irmão esquecera que as crianças apreendem tudo. Ele explicava que cada minuto de felicidade exigia mil minutos de sofrimento. Desde esse dia eu comecei a analisar a minha vida por esse prisma. Para ir à praia aos domingos, precisava ter tirado boas notas em tudo. E a matemática era uma tortura. Era uma semana de angústia. Mas conseguindo ir à praia antes tinha que assistir à missa e a missa tinha sermão. E depois em casa dependia da vontade do meu pai. E a vontade de meu pai também iria depender do automóvel funcionar bem. E quando às vezes o automóvel funcionava, aparecia um chamado médico. E precisava aguardar que ele pudesse retornar da visita. Se desse tempo e ele estivesse com vontade, íamos. E indo era proibido de tomar banho nos lugares em que os outros tomavam. Tinha que ficar nos pocinhos entre as pedras. E depois de tudo isso, quando a coisa estava melhor, ele resolvia sair. E quando chegava em casa com o corpo grudento de sal, era o último a usar o banheiro. De tarde com as costas meio ardidas, tinha que ir assistir à aula de catecismo particular da minha tia que nos preparava para a Primeira Comunhão... E assim por diante, cada minuto era a paga dos mil outros condenados...
- Pare, Baby! Que coisa horrível para uma criancinha.
- Nunca pude ser exatamente uma criancinha como as outras. Mas para tanto desânimo apareceu a defesa. Cada minuto de felicidade era gozado com a volúpia dos mil que viriam em seguida. Viver é dor, Paule, Paule; viver é a gente condenar-se à mínima angústia: "que importa que fulano cortou a perna, se eu espetei meu dedo? É meu dedo que dói. É a minha dor que dói. Se não houver primeiro a minha dor, talvez a dor dos outros, da perna do outro venha significar alguma coisa para mim. Mas mesmo assim num sentido de comparação. Se fosse eu que tivesse cortado a perna. Se em vez dele fosse eu". Tudo isso são as exemplificações dos pensamentos de solidão de Gus.
- Você não acha que a vida é uma graça?
- Sim e não. Mesmo porque eu estou vivo e tenho que viver. Talvez os hindus tenham razão ao dizer que a vida foi criada por um prazer. A própria natureza da natureza humana comete um genocídio para que um ser humano exista. Só um espermatozóide normalmente fecunda um óvulo para que a graça da vida apareça; o resto é eliminado sem nenhuma conseqüência. E de então o milagre da vida se casa com a condenação da morte, o enclausuramento e a dor.
- Onde você descobriu tudo isso?
- Lendo como um rato de biblioteca. Pensando, porque quando você fica estatificado horas por dia, pode pensar. É sua única libertação. Sugando avidamente todas as teorias de gente mais culta, assistindo aulas livres de filosofia... Enfim... A beleza da alma humana!...
- Você acredita nisso?
- Claro, porque creio em Deus. É mais fácil acreditar do que não. Compreender é outra coisa. Dentro da limitação da inteligência humana nem Gus conseguiu compreender a Deus. Se limitava humildemente a participar da presença de Deus. Acredito na beleza da alma humana e na purificação dela. Desde que ela conheça a vivência das coisas, que participe de toda a podridão humana para derretê-la em benefício da suave visagem de termos sido criados à imagem de Deus. Senão todos os homens seriam puros e castos, vulgares e comuns como o foi São Luís Gonzaga, o lírio de Deus...
- Baby, Baby, você me faz ficar toda arrepiada.
- Não vejo por quê. Estamos conversando sem conseqüências. E mesmo você é uma boa pequena.
Passou a mão no seu queixo e terminou a frase.
- É linda demais, e meu amor. O fato de ter tudo não importa, porque a sorte é generosa e não justa. Se você tem sorte a quem cabe a culpa? À própria sorte.
Paula estava pensativa.
- E você não dá chance alguma à solidão? Você seria capaz de nascer de novo?
- Há uma única chance na vida que dignifica a razão da existência. Uma coisa comum, mas que quando acontece com quem quer que seja, parece a renovação de tudo: o amor. Eu viveria de novo, nasceria de novo, por você, Paule.
Calaram-se contando os anjos que passavam no escuro. Estreitando o corpo contra o corpo, acalentando a mornidez da ternura. Um minuto eterno de felicidade que apenas iniciado foi interrompido pelo soar do telefone.
- Preciso atender. Deve ser a Lady Senhora me procurando. Desenroscou-se dele e foi até a saleta atender.
Voltou logo e perguntou ansiosa:
- Quer que eu vá, Baby? É ela sim. Quer que eu vá jantar e depois jogar qualquer coisa.
Abraçou-se a ele suspirando. Perguntava docemente ao seu ouvido:
- Você não quer, não é, Baby? Eu estou querendo tanto que você não queira. Eu te amo, Baby. Mas decida logo. Você não quer? Se me contar o resto que me prometeu, eu não vou. Aliás eu não vou, mesmo que você não conte...
Falava meigamente, apaixonadamente. Beijou-o nos lábios como se usasse pétalas de rosas.
- Nós não queremos que eu vá, não é amorzinho? Mas decida logo.
- Paule, meu toujours. Nem você nem eu, nem nossos anjos da guarda querem que você vá.
- Eu sabia que você não ia querer.
Levantou-se e voltou para a saleta para decidir o que já caprichosamente decidira. Voltou feliz. Sentou-se perto dele.
- Tudo em paz, Baby?
- Nós quatro estávamos ótimos. Agora vocês quatro chegaram, ficou melhor.
- Que história é essa de tanta gente?
- Veja! - Apontou a ambos refletidos nas três paredes de vidro do jardim de inverno.
- Como somos lindos no vidro, Baby!
- Só no vidro? Pois veja. Aquele ali vai perguntar a você. É a sua vez. Você me ama?
Beijou-a devagar.
- Agora aquele mais longe.
- Você me ama, Pô? Tornou a beijá-la.
- Agora aquele ali, mais perto. Você me ama, Pupinha?
Paula sentia-se em êxtase: Ninguém como ele sabia fazer as coisas tão lindamente.
- Agora nós dois, Paule, Paule.
Sem que pudesse responder, ficou ofegante sentindo o homem que beijava seus olhos, sua testa, sua boca, suas orelhas. Seus cabelos... A língua quente que penetrava loucamente à procura de sua língua.
- Você me ama Paula? Será sempre o meu toujours, Paula? Rolaram no tapete espesso. Não havia mais nada, nada, nem vidro
nem mar, nem angústia, nem a dor de viver. Só o amor e o corpo forte roçando nos seus seios duros dando aqueles arrepios violentos, voluptuosos, ecos de maravilha. Suas unhas magrifando as costas quentes, fortes,, musculosas e a beleza do pecado verdadeiro que Deus criara com a poesia do amor.
- Você me ama, Paula? Mas me ama mesmo?
Descerrou os lábios num gemido cruel, mordendo-lhe a boca e as orelhas, deixando que as palavras saíssem úmidas de gozo.
- Baby, Baby, eu te procuro desde que a primeira estrela foi criada.
O sol quase de meio-dia queimava-lhe o rosto e doía sobre o olhos fechados. Voltou à vida e a vida era dor de novo. Mexeu o corpo dolorido pelo tempo que ficara naquela posição. À sua frente Zéfinêta "B" andava nervosa para um lado e para outro, na parede. Veio até ao chão do terraço e respirou aliviada quando o homem se movimentou. Felizmente ele não morrera. Estava vivo.
Deu com a bichinha preocupada observando-o longamente.
- Ah! minha linda Zéfinêta, quase morri. Mas estou vivíssimo. Ainda vivo. Que horas serão?
Sondou o sol e calculou meio-dia.
- Preciso ir andando para almoçar meu bem. Estou tão desanimado que nem tenho vontade de ir banhar e conversar com os meus peixômetros. Na volta irei falar com eles. Feliz é você, minha rica rainha de não precisar se lembrar. Porque, verdadeiramente, voltar é sempre morrer um pouco. Até logo, Zéfinêta.
Saiu meio cambaleante e Zéfinêta correu pelo quintal, atravessou o capinzal e com o coração pela boca subiu no primeiro mourão da cerca. Telefonou preocupada para Porteirina avisando-a que ele partira.
- Por favor, Porteirina, trate-o com mais ternura. Hoje, desde que ele amanheceu, está com os olhos muito tristes, querendo chorar. Por favor, minha amiga. Nunca o vi assim nesse estado.
Sexto Capítulo - O Adeus, a Lágrima e o Espelho
AB foi sentindo aquele estrangulamento, aquela coisa opressiva que vinha do fundo do coração e tornava desagradável tudo que fizesse. Até a pele não era dele. A angústia e a solidão se enovelavam para asfixiá-lo. Fazia muito tempo que não se sentia tão deprimido. Caminhou pelo regato do Poção, mas nem sentia coragem de conversar com os irmãos peixes. Trouxe-lhes comida, mas num silêncio tão prolongado que incomodava os peixinhos. Não estavam acostumados àquilo e aquilo doía-lhes.
Voltou à sala de desenhos. Olhou os trabalhos já prontos e assinados, pregados na parede com percevejos.
- Qualquer coisa que você desenhar sobre índios, pode trazer aqui na Galeria que nós compramos.
Era uma voz conhecida da cidade. Aqueles desenhos positivamente não deveriam valer nada. Quando os fazia pensava realizar a coisa mais bela do mundo, mas agora, lotado de mau humor e de destruição, achava que nada valiam.
Apanhou um papel e debruçou-se sobre a mesa, mas a vontade não obedecia. A inspiração fugira para longe. Deu de cara com Zéfinêta entre os lápis e pincéis, observando todos os seus movimentos.
- Amiguinha, positivamente hoje nada dá certo com o bobão aqui. Mas sabe como é que é? Tem dias, e são raros que me deixam assim arrasado. Não sei se você me compreende, Zéfinêta "B", não sei se no seu lindo mundo de buraquinhos de parede, de banquetes suntuosos de pernilongos e muriçocas, você passa por essa fase. Incrivelmente por mais que amadureça, dois dias me perseguem sempre: Hoje e o dia de Natal.
Deixou tudo e tomou um grande gole de cachaça na cozinha; tomou, sem sentir, quase um copo. Queria queimar a alma naquele dia de inferno de solidão. Voltou meio estranho para o quarto e de novo fitou Zéfinêta. Deu uma risada meio desequilibrada.
- Hoje, meu amor, estou muito mais pendente para o uísque do que para o lado de São Francisco de Assis. O velho Chico. E por isso vou tomar mais um belíssimo trago.
Volveu meio cambaleante porque bebera demais. Soltou uma risada de louco que quase assustou a lagartixa.
- Você por acaso já ouviu falar em Natal, Zéfa? Pois bem, Natal é a festa mais filha da puta que existe! Não devia ser assim não. Mas é. Uma festa injusta. Gosto do Carnaval porque é alegre e para todos. Todo mundo toma duas talagadas de cachaça e brinca. Brinca o rico e brinca o pobre. Brinca quem pode e o outro. Natal, não. É uma festa deturpada, comercializada. Onde tudo é muito caro. Onde o pão não sobe em toda a mesa e onde nem toda mesa possui uma toalha.
Deu um estalido com os dedos.
- Entretanto, Zéfa. A coisa não foi feita para ser assim.
Zéfinêta reparou que ele estava fora de si porque já umas três vezes acontecera do homem se embebedar e chamá-la assim de Zéfa. Somente que das outras vezes ele tornava-se alegre e cantava coisas muito lindas. Hoje não, dera para falar com os olhos molhados de tristeza. E ela não gostava disso porque na sua insignificância de bichinho, nada podia fazer.
- Vou te contar uma história muito linda. Uma vez um caboclão formidável, chamado Deus, fez o mundo, fez os homens, fez os pássaros e as lagartixas: fez também a saudade, o amor e o abandono.
Deu um muxoxo.
- Estou falando difícil demais para você. Mas fez tudo isso; muitas terras maiores que o sítio do Poção. Mais cheias de homens e com muito menor quantidade de lagartixas. Está mais fácil assim? Acho que está. Mas espere que vou tomar mais um pouco de maná para aclarar as idéias e dar mais compasso ao coração.
Ela ouviu amedrontada os seus passos indecisos. Ouviu o destampar da garrafa e o gorgolejar do líquido no copo. Depois, os passos retornaram mais lentos e mais desequilibrados.
- Bem, onde estávamos?
Sentou-se meio amolecido no canto da parede.
- Ah, sim. Então o caboclão chamado Deus viu que os homens estavam se afastando da bondade, brigavam muito, faziam guerra e davam muita porrada entre si. Deus escolheu a mulher mais bonita, de olhos mais redondos, de mãos tão finas como flores e sorriso mais brilhante do que uma reunião de vaga-lumes em noite sem lua. Essa senhora tão linda era a Virgem Maria. Aí nessa parte, Zéfinêta, há muita confusão. Tem gente que acredita nisso, e tem gente que não. Mas a Virgem Maria ficou esperando um filho que vinha cheio de idéias bondosas de Deus para semear entre os homens. Porque, diante de tanta burrice entre a humanidade, era preciso que Deus aparecesse numa forma humana, para que todos compreendessem que o amor funciona mais do que a maldade e a raiva. Aí a Virgem Maria foi viajar já com a barriga grande que nem podia respirar. Ninguém recebia ela e São José, um velhinho marceneiro que era uma uva de doçura, nos hotéis, porque eles eram pobres, e só depois de Cristo que apareceu gente dona de hotel, boa como Tia Estefânia. Foram que foram e chegaram até Belém, e como ela não pudesse mais, descobriram uma gruta; e no meio da palha, junto de um boizinho e de um burrinho nasceu o homem que deveria salvar a humanidade por amor. Nessa noite o céu reuniu todas as estrelas e fez um buquê tão grande que parecia mais um grande cometa, para saudar o Menino-Deus. Vieram três Reis Magos cada um de uma cor, cheios de presentes, vieram de muito longe atraídos pela luz da estrela. Daí que nasceu o costume dos homens darem presentes nesses dias. Mas para acabar essa história que já está muito comprida o homem cresceu e escreveu um romance muito lindo chamado: os Evangelhos. Falou tão bonito que incomodou os outros. Os outros pegaram ele, desceram a lenha e mataram aquele que era o filho de Deus. Depois que eles fizeram toda essa malvadeza, pensaram, pensaram e resolveram: A gente pode fazer um ótimo negócio com essa coisa. E deram para vender vinhos, nozes, amêndoas, champanha e brinquedos, e tudo mais. Pronto. Eis o Natal.
Olhou a lagartixinha que se encontrava fascinada com a sua discurseira.
- Pena que eu confundi tudo, Zéfa. Até que a história era mais bonita, mas você sabe, meu bem, eu sou parte dos homens. A gente tem o destino de nascer com um pedaço de Cristo, do homem filho de Deus no coração: É apenas uma miniatura que injetam no coração das crianças. O meu Jesuzinho, já começava até a andar quando um padre, um religioso o assassinou dentro do meu coração. Então para não ser totalmente abandonado de Deus, adaptei humanamente, já que não poderia fazer mais, Deus à minha inteligência. Ficamos bons amigos. Tomei intimidade com três dos seus maiores parceiros de jogo: Tom, Gus e Chico. E vou indo assim pela vida, brigando com Ele, fazendo as pazes, abusando da Sua Misericórdia, distribuindo sem pretensão um pouco do seu sorriso entre as faces humanas para que Deus não fique mais triste do que me sinto hoje.
Colocou os cotovelos sobre os joelhos e apoiou as mãos no queixo.
Ficou uns segundos desintegrado de tristeza. Aí seu coração não agüentou mais. Caiu de joelhos e entreabrindo os braços, soltou um uivo tão dolorido que Zéfinêta apavorada subiu pela parede.
E com a baba escorrendo pelo queixo gemeu lugubremente.
- Deus! Deus! Deus! Um pouco de piedade hoje. Só hoje. Me ajude. Você conhece a honestidade do meu coração. Você conhece a sinceridade das minhas confissões. Sempre é a você que me mostro sem os sete véus da hipocrisia. Por tudo de lama e estéreo que exista ou existiu no meu coração. Pelas fezes da minha alma e do meu remorso. Pela sujeira em que chafurdei meu Cristo assassinado tão moço. Pela prostituição com que vendi meu corpo entre homens e mulheres. Pelas alucinações dos tóxicos que tomei. Pela fraqueza com que me vendi pela fome aos instintos dos outros. Pelo amor de Paula que me transformou de um gigolô num frade sem batina, um pária sem ninguém, pelas explorações que fiz dos índios, sobretudo pelo meu amor por Paula... Deus... Deus... Deus... "Tende piedade de mim. Um sorriso apenas para que não rebente o meu coração de solidão. Tende piedade dessa dor que conheceis. Eu agora vos trato por Vós, meu Deus. E não pode haver maior humildade do que isso..."
Mas Deus ainda não tinha gostado de sua oração. Pelo menos deixou-o ali se encolhendo aos poucos, voltando à posição anterior.
Quando seus soluços diminuíram e as lágrimas fizeram um vale seco e luminoso entre suas faces, Zéfinêta veio descendo lentamente da parede.
- Me desculpe, minha amiguinha. Um homem só tem mesmo de real é a verdadeira noção de sua fraqueza.
Depois foi murmurando coisas devagar para que o coração não se estilhaçasse, de dor.
- A outra coisa, Zéfinêta, que me dói, é que hoje - e nós estamos no mês de junho - hoje é dia dos meus anos. E eu não tenho ninguém. Perdi num mundo confuso toda a idéia de afeição e de família. Quis enganar meu coração fazendo do amor ao próximo minha família e devo ter falhado porque senão não estaria fazendo o que eu fiz.
Ainda bêbado, porém menos um pouco, teve uma idéia.
- Espere que já volto. Você vai me ajudar.
Tornou a entrar na cozinha e retornou com um pires e um pedaço de goiabada dentro. Um toco de vela estava enfiado no doce.
Puxou um banco para perto da mesa. Sentou-se. Riscou o fósforo e acendeu a vela. Sorriu melancòlicamente para Zéfinêta.
- Agora, Zéfa, cante comigo, para festejarmos o meu aniversário. Faz de conta que estamos no seu lindo palácio, num salão enorme, cheio de armaduras reluzentes e que os círios, iluminados circundam o vasto salão. Faz de conta que você e eu estamos caminhando de braços dados a distribuir sorrisos pelo ambiente superlotado de gente fina. Veja bem, minha rainha: de um lado estão todos os pederastas, putos, homossexuais, putas, rameiras, velhas cafonas, velhas ninfomaníacas e toda uma corte de lama e podridão que lamberam a goiabada do meu corpo. E do outro, um bando de gente pobre sem rosto, sem significado a quem pensei ter feito algum bem, em vez de ser bom... Façamos um leve inclinar respeitoso de cabeça a eles, pois que todos foram feitos à imagem do nosso bom Deus. Não somos nós quem iremos julgá-los, visto porque existem, porque saíram do genocídio de cromossomos que o próprio Deus permitiu que a natureza o fizesse.
Deu uma risada maior.
- Não cairá um só cabelo de sua cabeça sem que seja essa a vontade de Deus. Que mania de botar a culpa de tudo em Deus. Imaginem então que trabalheira Deus não deveria ter tido com os carecas. Maior parte do seu tempo passaria nisso e castigando os fabricantes de produtos de nascer cabelo... Bom, vamos soprar a vela e acabar com a festa. Assim que eu fizer flut-flupt, você canta comigo.
"Parabéns para mim
Nessa data querida
Muitas felicidades
Muitos anos de vida..."
- Obrigado, obrigado, minha querida e linda amiguinha.
Ficou com os olhos cheios d'água contemplando o salão que se metamorfoseara de novo nas paredes esburacadas de um rancho e nos círios gigantescos que se fundiram no brilho minúsculo de dois olhos redondos de uma simples lagartixinha cascorenta. Baixou o rosto sobre as mãos e ficou sem vontade de mais nada.
De noite, no mundo das telhas, Zéfinêta comentava com Ranglabiana e Undrubligu e mais um rato nômade que viera para o rancho tirar umas férias, atraído pelo cheiro de comida e de morador.
- Foi um dia terrível, extenuante. Não há cristão que agüente! Outro assim, e será mais um sanatório de doenças nervosas de que estarei precisando.
Ranglabiana ajeitou os óculos na ponta do nariz e observou.
- Você está exagerando, bobinha. Afinal não passou de um porre homérico a que muitos homens estão acostumados. Depois - aí ficou com pena de Zéfinêta - não se acostume tanto a esse homem. Logo logo ele vai embora e você fica sofrendo que nem doida.
Vendo que a outra ficara cheia de aflição, tentou disfarçar brincando.
- De mais a mais, você precisa ter cuidado com a Xittitinha: ele anda muito cheio de dengues com ela.
Zéfinêta bufou irritada.
- Aquela assanhada que não se meta a besta que amanhã eu cuido dela.
Fizeram um silêncio e o rato comentou:
- Quando há uma pausa numa conversa é porque passou um morcego. Um morcego lindo, de trancas loiras e asas de ouro.
Undrubligu, que cochilava mais do que falava, perguntou:
- Você não disse que ia contar prá gente a história do Natal que ele contou hoje?
- Que é que adianta? Antes de acabar, você já está dormindo.
- Não faz mal; faço como as novelas. Amanhã Ranglabiana me conta o que não escutei. Se eu roncar vocês podem me cutucar.
Zéfinêta pensou como poderia traduzir a história que Ab lhe contara, reduzindo-a à expressão mais simples, àquelas inteligências pequenininhas. Fez pose de grande contadora e começou:
- Foi assim. Deus, o Grande Camaleão que fez o mundo, estava muito triste. Triste porque havia uma briga danada nos seres que habitavam os grandes rios. Por causa da pesca e das águas, os crocodilos brigavam com os jacarés. Estes com os caimãs e os caimãs com os gaviais; era uma briga tão grande que o rio ficou vermelho de sangue, em vez das águas serem claras...
Olhou em volta e viu o interesse dos ouvintes. Então dava para continuar.
- Aí o Grande Camaleão não gostou disso. "Afinal não fiz o mundo para que ele se destruísse sozinho". Pensou que pensou e resolveu dar uma chance ao mundo mandando um filho santo e crocodilo para salvar a humanidade. E assim fez: pegou uma iguana muito linda, muito verde, de olhos redondos que se chamava Maria e era casada com um velho jacaré chamado José e disse: "você vai ser a mãe do meu filho."
Ouviu-se uma vozinha meio de longe.
- Não foi nada disso que ele contou.
Zéfinêta ficou fula de raiva. Ranglabiana admoestou.
- Cale a boca, Xittitinha. Não se meta em conversas de mais velhos. Vamos, menina, que a história está muito linda e prosaica.
- Aí foi aquela coisa. Maria ficou esperando uma ninhada, mas que só valia um ovo mesmo, do qual nasceria o filho do Grande Camaleão. Foi procurar um hotel, porque já estava pesada, mas todos os grandes montes de areia do rio estavam ocupados. Depois eles não podiam pagar, porque José era muito velho para caçar e não tinha peixe morto para pagar o aluguel. Eles foram andando e foram andando até que chegaram em Belém.
Undrubligu ficou intrigado.
- Que Belém, Belém do Pará?
- Acho que foi.
- Não sei, eu tenho um primo que veio de lá, pegando carona num motor, que conhece toda a história de Belém, e nunca falou disso.
- Pois se o homem disse que foi Belém, é porque foi. Ele não mente. Mas vou continuar ou não vou?
Chegaram a um acordo e se calaram.
- Só numa gruta onde moravam dois calangões é que acharam um lugar. Aí nasceu o filho que vinha chamar os homens na cabeça. Foi uma festa. Pegaram um grande jacaré, colaram ele de pirilampos e penduraram no céu como uma grande lanterna para anunciar o nascimento do filho divino do Grande Camaleão. Vieram três grandes reis crocodilos de três cores: um amarelo, um verde e um marrom. Trouxeram presentes caros: pedaços de pirarucu, peixe-elétrico, óleo de boto. Foi uma festa. Eles vieram de muito longe e eram grandes reis.
- Se vieram de longe, só podem ter vindo de Manaus, descendo o Amazonas.
Zéfinêta não sabia explicar aquele detalhe.
- Acho que foi.
- E daí?
- Daí, o filho de Maria cresceu e se transformou no mais lindo crocodilo do mundo. Tinha uns olhos verdes lindíssimos e pestanas douradas. Foi falando, dizendo coisas bonitas e belíssimos ensinamentos para a humanidade. Quem aproveitou, aproveitou. Ficou sendo melhor. Mas quem não gostou mesmo foram os ladrões, os safados, os desonestos. E como estes estavam com a maioria, combinaram matar o filho de Maria. Armaram uma emboscada e zuquet: arpoaram ele. Como seu couro era muito lindo fizeram dele milhares de bolsas de crocodilos, cintos e carteiras. Eis porque no Natal todo mundo dá presente e bebe muito. Até hoje ainda dão presente de bolsas de crocodilo, lembrando o que viera para salvar a humanidade. Foi só.
Ranglabiana comentou:
- O final está meio descosido, mas é de se louvar a grande memória que tem essa menina e o jeito de contar as coisas.
Undrubligu ainda impressionado com a história de Belém resmungou soturno.
- Prá mim esse seu amigo estava um pouco confuso. Porre dá dessas coisas.
O rato viajante apenas comentou, decepcionado:
- É.
Mas Xittitinha estava revoltada lá do alto.
- Não foi nada disso. Ela mudou tudo. A história que o homem contou foi uma lindeza.
Foi preciso que Ranglabiana a segurasse pelo rabo, para que Zéfinêta não fosse às vias de fato com a lagartixinha.
- Amanhã eu te pego, sua sirigaita.
- Calma, meninas, calma. Também não há motivo para tanto. Vamos todos dormir que é melhor.
Cada um se recolheu ao seu sono sem sonhos.
Zéfinêta não conseguia dormir, excitada pelo dia terrível que passara. Ouvia, graças a Deus, que o homem ressonava calmo lá em baixo sob o mosquiteiro. Aquilo a apaziguava um pouco, mas não deixava de lembrar que o homem breve iria embora. E que partindo, seu pequeno mundo perderia pelo menos por vários dias, o seu encantamento.
Ele ressonava embaixo. Na certa, já que podia sonhar, estaria sonhando com aquela mulher que o perseguia como um fantasma. Como era o nome dela mesmo? Ah sim, Paula. Quando tivesse uma filha se a memória não a traísse, iria chamá-la assim. Que bonito quando de tardinha gritasse para que ela viesse dormir:
- Paula... Paula... Paula...
- Gostou do quarto?
- Hum-hum.
- E do pijama?
- Como o dos meus sonhos. Sempre sonhei com pijama azul de seda. Azul da cor dos meus olhos. Mas também gosto do amarelo.
- Também da cor dos seus olhos?
- Exatamente.
Riram da besteira. Ficaram roçando os pés só de gostosura.
- Paule.
- Hum.
- Eu preciso voltar para o hotel.
Ela virou-se de bruço na cama e com um pedaço de celofane da carteira de cigarro ficou alisando seu rosto.
- Fazer o quê?
- Ué. Eu moro lá. Você vai me levar?
- Não. Já mandei guardar meu carro na garagem. Continuava a fazer-lhe suave cócega com o celofane.
- Eu irei de ônibus.
- Que coisa vulgar, promíscua: andar num lugar ao lado de gente que nem conhece, nem foi apresentada.
- Mas o mundo está cheio dessas coisas.
Tentou sentar-se, mas ela apoiou as mãos nos seus ombros e obrigou-o a deitar-se: Ficou debruçada sobre os seus olhos, sorrindo para eles.
- Ouça meu querido de olhos azuis, de olhos amarelos, de olhos cor de abóbora. De hoje em diante não existe mais hotel ingênuo em sua vida, nem na minha.
- Você está louca, Pô.
- Estou mesmo. Hoje de tarde passei lá, liquidei tudo. Mandei dar toda aquela roupa horrível para os porteiros ou quem se interessasse.
- Você não devia ter feito isso.
- Mas fiz. Querido, não se zangue. Mas você, se não mentiu, gostou do quarto, não?
- Nunca vi coisa mais linda em minha vida.
- Se você também não mentiu, você me ama, não?
- Paule, Paule, você nem pode duvidar. Você "é" a coisa mais linda da minha vida.
- Meu amor, você não pode continuar vivendo como vive. Não quero e nem deixarei. Você precisa aceitar o que estou fazendo, com naturalidade. Mesmo porque estou preparando uma porção de coisas para o seu futuro. Se você está assim tão... como direi? Sei lá. Se você não quer aceitar uma coisa mínima como um simples quarto, como ficará quando souber que vamos para São Paulo na sexta-feira que vem?
Levantou-se contrariado. Pela primeira vez depois que se tinham encontrado teve um gesto grosseiro com Paula.
- E se eu não quiser ir?
- Mas nós queremos que você queira, Baby. É a única forma de nós podermos acreditar em você. Isso não é vida.
- Você pensa fazer-me um gigolô realmente?
- Não penso. Você já poderia ter sido antes se quisesse. Ou não? Penso em dar uma vida mais digna a você. Arranjarei um emprego qualquer em que você não se mate. Já mandei preparar um pequeno apartamento para você começar a viver, para que não seja obrigado a morar comigo no meu luxuoso apartamento em Higienópolis. Falei com a Lady Senhora e ela arranjou um apartamento lá em São Paulo. Meu primo é dono de uma cadeia de jornais e vai lhe arranjar um lugar de ilustrador ou coisa que o valha. Você ganhará o suficiente para pagar as suas despesas. Depois então poderá por seu esforço próprio melhorar de situação. Então como honestamente gosto dos seus trabalhos, começaremos - isso também com muito esforço seu a transformá-lo no artista com a inteligência e sensibilidade que você tem.
Levantou-se e ante a desorientação de Baby caminhou pelo quarto, dura, e arrogante, cruzando os braços e apertando os cotovelos.
Parou de novo perto do rapaz recostado no espaldar da cama e franziu a testa.
- Venha cá.
Esquecendo em um segundo toda a independência de que fizera sua vida, ergueu-se e postou-se junto de Paula.
- Olhe-me de frente, como um homem. E como um homem diga-me de uma vez se você quer melhorar de vida ou não. Se quer continuar se chafurdando na podridão e no cinismo, ou se aceita um auxílio para viver simplesmente decente como o homem decente que você pensa em esconder. Responda de uma vez. Ainda é tempo. Assim não perderemos o nosso tempo.
- Como quer que eu responda? - indagou quase sem voz.
- Se quer, estreite-me nos braços. Caso contrário, esbofeteie o meu rosto para que eu saiba que perdi a minha última ilusão sobre os homens.
Com os braços trêmulos envolveu-a e trouxe os seus lábios aos lábios de Paula. Paula soltou um suspiro com gosto de morte.
Enfiou os dedos nos seus cabelos sedosos e alisou-os lentamente. Sentiu que lágrimas desusavam pelo seu rosto e não eram delas.
- Você está chorando Baby. Oh, meu Baby, minha vida! Emocionado ele confessou:
- Paula, ninguém fez nada na vida por mim assim. Todos me devoravam, todos me devoravam sem piedade. Eram canibais em volta da minha grande beleza. Somente isso e isso toda a vida.
Deixou que ele desabafasse e dominando a própria emoção, reunindo o máximo de ternura, confessou também:
- Eu não perderia a estrela que procurei em minha vida. Por isso estou lutando por ela. Não deixaria que você desaparecesse como um simples bólido sem rumo.
Separou-se dele.
- Vamos até o jardim de inverno. Nós oito, e mais os nossos anjos da guarda, estão precisando muito de um conhaque.
- São Paulo terá outro horizonte para você. O Rio é uma cidade marcada. Vamos fazer um tim-tim.
Chocaram os copos.
- Agora que tudo passou, Baby, vou confessar o meu medo. Se você fosse embora, eu teria ficado louca. Juro que me matava...
Ele rolou o copo entre os dedos, observando o bojudo elegante e se divertindo com a dança da bebida lá dentro.
- Talvez seja melhor mesmo sair daqui. Quando uma cidade nos humilha a ponto de se conhecer os cafés onde a média é maior, é porque está decidida a não nos dar oportunidade...
Beberam longamente e ele analisou Paula com um respeito que antes nunca tivera. Sorriu.
- Você parece Maviru. Não é à toa que tem os cabelos pretos e lisos como Maviru.
- Quem é Maviru?
- Uma história do Xingu. Maviru era uma índia casada que morava na aldeia dos índios Camaiurás. Uma índia que devia ter uns vinte e cinco ou vinte e seis anos. Um dia ela foi com o pai nos visitar no Posto do Serviço de Proteção aos Índios. Lá deparou com Kanato, um rapagão da tribo Iualapeti. Kanato tinha dezoito anos quando muito, fora criado com a gente no Posto e sabia falar português bem. Quando Maviru viu Kanato, naquela beleza toda se apaixonou por ele. Riram ao mesmo tempo. De volta à sua tribo, Maviru chamou o pai e o marido e lhes confessou:
- Vou me separar de você e me casar com Kanato. O pai perguntou-lhe.
- E se Kanato não quiser?
Ele vai querer. E se não quiser não continuarei mais com o meu marido.
Arrumou o que tinha e foi buscar Kanato.
- E depois?
- Depois o tempo foi passando e como as mulheres índias envelhecem rapidamente, ela pensou: "Preciso ser inteligente para não perder Kanato. Ele vai ver que estou ficando velha". Então saiu com Kanato e os filhos, de aldeia em aldeia procurando uma mulher nova e bonita. Arranjou uma e levou-a para a sua cabana. Vivem todos muito felizes e ela não perdeu o seu grande amor.
Paula soltou uma risada.
- A história é muito parecida. Também sou separada do meu marido. Também sou mais velha do que você... mas olhe aqui, seu vigarista, posso ficar velha, caquética, caindo aos pedaços que não dividirei você com ninguém.
Deu-lhe uma dentada na orelha para provar o que dizia.
- Pô.
- Hum.
- Sente-se aqui.
- Para que?
- Você verá.
Fez-lhe a vontade. E como um gato, ele esticou-se no sofá e deitou-se no seu colo. Perguntou cinicamente:
- Está bom assim, Paule? Se está fique passando a mão no meu peito.
Ela obedeceu fascinada.
- E o que mais?
- Agora escute. Vou doer.
- Não deixarei que você doa muito.
- Foi por isso que pedi tanta coisa para você fazer.
Seus olhos se entrefecharam procurando as brumas da distância. E as lembranças se sucederam gradativamente.
A coisa errada que fora o casamento do seu pai com a sua mãe. Ele louro, educadíssimo, culto, filho de português. Ela, nem sequer era alfabetizada, muito morena, filha de índios Pinagé. Conheceram-se na fábrica onde trabalhavam juntos. Depois o nomadismo da mãe, fenômeno natural, que não o deixava parar em emprego algum. Era sempre trabalhando um ano aqui, outro ali, sem solidificar uma posição. A índia falava forte e fascinava-o. Depois onze filhos. Morreram dois. Ficaram nove o tempo chegando e trazendo com ele a idade, e a impossibilidade de renovação de trabalho. Agora mesmo, passara longo tempo sem emprego. Foi preciso que ela voltasse depois de velha, aos teares do Moinho Inglês e que as irmãs mais velhas trabalhassem para agüentar o peso do lar. A educação dos filhos tornava-se pesada. Por isso deram uma filha para uma prima casada com um médico rico que não tinham filhos. Enquanto essa filha era educada como uma princesa, os outros se preparavam desde cedo para o caminho de qualquer emprego na cidade. Depois, ele, que partia para o Norte sonhando com artistas de cinema e cavalos brancos...
Um navio. O enjôo de que se apossara e o fazia ficar deitado, tonto, tonto. Só se erguendo quando sentia o navio estacionado no porto.
De noite, entontecido de sono, enjoado, via o padrinho a quem se via obrigado a reconhecer como outro pai, debruçado sobre ele perguntando.
- Você já rezou?
Nem sabia o que era rezar.
- Você não vai à missa? Nunca fez catecismo?
Lembrava-se que fora às aulas de catecismo do padre Vasconcelos, mas, achou tão chato que nem valia o sacrifício para ganhar um santinho ou uma medalha. Melhor, e por ser de tarde na hora do vento, era empinar papagaio, tosar os outros pondo pedaços de vidro na cauda das grandes pipas, laçando os papagaios da outra rua.
- Não, senhor.
- Então vamos aprender.
Pegou no seu polegar e foi distribuindo as palavras de acordo com as cruzes: pelo sinal da santa cruz, livre-nos Deus...
- Sem aprender a rezar, ninguém vai para o céu.
Pela primeira vez teve conhecimento daquela palavra que também começava por "c" e terminava por "u" e que na sua única sílaba deveria encerrar a salvação do homem. Céu para ele até àquele momento significava lugar para papagaio voar ou quando muito, de noite, segurar as estrelas.
O casarão colonial. Muros enormes com lanças pontiagudas sobre as grades que encimavam o paredão. Palmeiras imperiais em filas. Jardim tratado, com flores de todo feitio. Um repuxo ao centro que era uma beleza quando ficava rodando. Os terraços, as grandes salas. A austera sala de jantar com uma mesa de jacarandá sempre brilhante, ovalada, imensa para caber toda a família. Pomar cheio de frutas, que nem precisavam ser roubadas. Mangueirais, sapotis, coqueiros. A capela para a missa aos domingos, bonitinha mesmo, sempre arrumada por tia Raquel, a meiguice solteirona em pessoa. As baias onde havia dois cavalos meio velhos, completamente sem utilidade. Um branco e outro castanho. Um nicho com um São José das Palmeiras que diziam que por mais que o colocassem na capela, que ele fugia sempre para aquele lugar. Uma avó linda, de cabelos repartidos, no meio, alvos, alvos. Sempre de preto, caminhando com uma dignidade maravilhosa. No seu peito havia sempre um camafeu. Além dessa avó, adquirira novos tios e alguns primos. Mas todos tinham sua vida própria e suas casas afastadas. De noite compareciam para rezar o terço às seis horas.
A casa do novo pai era um belo chalé no lado direito do grande sítio. Também com um grande terraço ensombreado pelas mangueiras copadas e sapotizeiros cheirosos. Na casa grande morava um primo, que brigava muito e lhe aplicava bons bofetes, por ser mais forte.
E depois? Depois tinha um cachorrinho lulu todo estropiado, pois um carro o atropelara. Ficaram amigos logo. E lá vinha o cãozinho com os quartos traseiros desequilibrados, como uma bicicleta mal dirigida, lamber-lhe o rosto ou tentar acompanhá-lo em suas brincadeiras.
- Sabe, Tulu, você vai correr tanto, aprender a brincar de apanhar a bola, subir tanto a escada que no fim, você fica bonzinho.
E foi mesmo o que se dera.
Logo chegado da escola, onde o estudo era uma sopa, almoçava, brincava um pouco, fazia as lições e danava-se a travar conhecimento com as novas árvores, provando frutos de que nunca ouvira falar. Aquilo tudo lhe fora dado em troca da rua, de poeira e sol, brigas e palavrões. E que começava a fazer-lhe falta. Faltava a ternura das coisas e das gentes. Desde que passara do fenômeno curiosidade, tornara-se mais um menino. Sem importância alguma, sem ser notado, sem ser visto. Vivia bem arrumado, começava a ser lixado, polido, civilizado.
O fascínio da casa grande o deixava tonto. Andava por aqueles quartos enormes. Deixava de lado a parte superior reservada a uma tia que nela morava, uma tia casada, a sua avó e também tia Raquel. Perdia-se no quarto de brinquedos, onde o primo tinha até bilhar. E ficava olhando sem tocar em nada, olhando a bicicleta: Mas ele não era como Serginho, nunca lhe oferecera para dar uma volta. Do quarto de brinquedos, abria a porta proibida e ficava vendo deslumbrado o salão de festas. Que coisa mais linda! Os móveis negros com almofadas. Os tapetes coloridos e sombrios. Os espelhos compridos, com garças cor-de-rosa pintadas, com desenhos de folhagens verdes. As cortinas vermelhas de veludo, tão macias, que vinham lá do teto até o chão. E os dois pianos. Um pequeno e outro com um rabão redondo. Uma pianola lá mais longe, porque devia ser mais inteligente, pois tocava música sozinha. Todos os três muito negros. O grandão tinha uma dentadura toda branca e comprida. Era todo coberto por um pano de feltro onde havia pautas de música com notas. Sabia disso porque adorava, quando não tinha ninguém, mexer de leve nas notas. Agora era até um momento dos bons. Todo mundo estava lá em cima e muitos tinham saído.
Deu uma volta até a sala de trabalho da vovó. Tudo vazio. Ótimo. Deslizou pelo salão, abriu o piano e com o dedo foi procurar as notas que se juntavam para fazer as suas músicas. Era um mistério, aquilo: com uma tocada de um dedo o pianão cantava bonito e aos poucos procurando uma nota junto da outra ia descobrindo coisas; se errava voltava a pesquisar até dar o tom certo. Estava perdido num mundo que descobrira nem fazia uma semana, quando a chave da porta central girou rapidamente e o vulto negro de vovó apareceu.
Ficou paralisado de horror ao ver que ela se aproximava lentamente. Nem tivera tempo de fugir. Sentiu tremer-lhe os lábios e os olhos se encheram de lágrimas. Suplicou:
- Vovó Inês, não me bata não. Eu sei que sou um menino desobediente, mas prometo que não faço mais.
Desatou a chorar, colando o rosto contra as teclas. Mas as mãos que tocaram em seus ombros, eram de doçura incrível.
- Que é isso, meu filho? Ninguém vai bater em você. Não há nada de mal no que você está fazendo. Venha cá. Sente-se comigo no sofá. Tirou um lenço muito branco e limpou o rosto da criança.
- Agora, puxe aquela cortina e volte aqui.
Obedeceu ainda fungando. Com a luz, uma bondade calma se espalhava pelo rosto de vovó. Sondou, ainda desconfiado, suas intenções.
- A senhora não vai brigar comigo? Nem me botar de castigo? Ela sorriu meneando a cabeça branca.
- Nem contar lá em casa?
- Nada disso. Eu só vim aqui porque achei a música muito bonitinha e queria ver qual era o anjo que tocava tão bonito.
Sua voz era diferente, calma e engraçada; às vezes ela falava de um certo modo cantado.
- Mas o salão de festa não é proibido?
- É de um certo modo. Fica fechado com os móveis cheios de capas para não estragar. Mas isso só para que ele fique sempre bonito quando tem festa. Você não acha que se entrasse gente toda hora ele ficava logo sujo e feio?
- É sim, senhora.
- Você gosta de brincar no piano?
- É tão bonito...
- Por que você não brinca no piano de sua casa?
- Tem uma porção de coisa, Vovó, que é proibido para criança. O piano está trancado à chave.
- Que música você estava tocando?
- É música de onde eu morava antigamente. Um homem saía pelas ruas com os folhetos anunciando. Parava e cantava. Quem gostasse ia lá e comprava uma letra. Eu passava o dia acompanhando o homem, por toda esquina onde ele parasse para cantar. Só assim aprendia.
Parou um instante.
- Era cada coisa tão bonita!
- E você? Não descobriam em casa o que você estava fazendo?
- Não, porque eu era bom aluno e pensavam que eu estava na Escola Pública. E o homem só vinha da cidade nas terças-feiras. Tinha dias que eu nem ia almoçar.
- E daí? Não sentiam falta de você? Riu de um jeito moleque.
- Nada, Vovó Inês. A gente era muito e a comida pouca. Quando faltava um é porque tinha arranjado onde comer. Então ficava mais tutu para os outros.
A velha estava emocionada.
- Você não quer ir brincar agora?
- Onde, Vovó? Ficou espantada.
- Mas numa casa com um quintal tão grande, tão cheio de coisas, onde só é proibido matar passarinho...
- Eu já fui falar com os cavalos) mas eles nem ligam. Fui brincar • com o Tulu, mas ele cansa logo, porque é doente. Já passei por todo canto hoje...
Então a avó notou a solidão da criança. Ela estava sentindo falta da rua, dos irmãos, do mundo que lhe fora roubado tão abruptamente. Ninguém reparava nisso.
- Então vamos fazer uma coisa. Feche a cortina, feche o piano e vamos visitar as minhas roseiras, quer?
- Eu vejo sempre quando a senhora passeia entre elas. Por que?
- Porque tenho muitas amigas entre elas.
- E elas conhecem a senhora?
- Todas. Todas têm nome, você vai ver.
Desceram as escadarias de mãos dadas e foram se perder nas alamedas do jardim... Remexeu-se no colo de Paula e perguntou.
- Não está cansada, Paule?
- Estou adorando. Que vida que você teve, Baby. Acenda um cigarro pra mim já que você me tem prisioneira.
- Por onde andava a sua irmã durante todo esse tempo?
- Interna no colégio. E era bom, porque nunca vi chata maior. Durante minha infância ela foi um inferno. Mesmo hoje continuo de relações cortadas com ela. Se é uma pessoa que eu detesto...
Mas como se pode falar assim de uma irmã? Como podem dois irmãos se odiarem?
- Isso é mais velho do que posição de fazer cocô... Paula deu uma risada.
- Lá vem você com as suas coisas. Parece até que você voltou a ser molequinho de rua.
- É verdade. Essas coisas acontecem desde Caim e Abel, Esaú e Jacó. A Bíblia está cheia de tais casos.
- Seus irmãos são todos parecidos com você?
Nenhum. Quase todos, a não ser Glória que morreu, são morenos puxando a parte do índio. O único claro e também o único que tem as taras dos índios sou eu. O sangue também. Você mesmo já viu com que facilidade eu me bronzeio ao sol. Vou continuar, para depois nunca mais se tocar em passado.
Descruzou as pernas para mudar de posição.
- Bem, minha avó foi quem descobriu o que infernizaria a minha vida durante muitos anos: o piano. O meu instinto musical. Acabou-se minha paz. Era música todo tempo além do colégio. Não podia fazer uma ginástica, subir numa árvore, por causa das minhas preciosas mãos. Fui tomando um ódio danado da coisa. O piano e a falta de carinho transformaram-me num menino ensimesmado, calado, arredio. Não se afeiçoavam a mim, mas em compensação não me apegava a ninguém. Foi duro descobrir que a minha reduzida geografia estava errada. Tive que chutar para longe os meus sonhos e meus cowboys favoritos. Comecei a só gostar de filmes de amor e beijos. Isso todo domingo criava atritos na família. Aos doze anos aconteceu uma coisa que iria mudar o rumo de todos nós. Minha avó morreu.
...Lembrava-se que ela fora ao Rio fazer uma operação e que na volta, Tio Abel dirigira uma grande recepção nos salões de festas. Ele ensaiara uma pequena peça de sua autoria, onde vários primos participaram. Depois houve a parte musical onde abrira o programa tocando uma musiquinha chamada La Tulipe. A avó sorridente achava tudo lindo. Cada um que terminava seu número ia receber o seu beijo de agradecimento...
Mas ela não viera bem coisa nenhuma. Dera para sentir dores que a obrigavam a tomar contínuas injeções e ficar prostrada ao leito. Os netos quase nunca subiam para vê-la. E quando o faziam, notavam que ela estava cada vez mais fraca e emagrecida. Seu rosto bonito tornava-se anguloso e chupado.
- Que é que tem, vovó?
Um dos primos contara, fazendo mistério:
- Ela está com câncer.
- Que é que é isso?
- Nunca ouviu falar? É uma doença má que come a pessoa em vida e que dá muita dor. Se você abrir o bico dizendo que fui eu que contei te encho de bofetes.
Numa noite em que os grandes não mais saíam da casa, vovó começou a morrer. Sua agonia durou até às duas da tarde do dia seguinte.
O silêncio viera morar em cada coisa. Depois a chegada das flores, gente pobre invadindo os jardins, chorando a mulher caridosa que ela fora toda vida. O corpo na capela. A família também chorando em silêncio para beijar o seu rosto macilento e emagrecido. Com horror esperara sua vez. Ficara estupefato como a morte pudera destruir um rosto tão bonito. Agora jazia ali, frio e calado, morto e triste.
Baby parou um pouco.
- Oh Pô, nunca mais quero ver ninguém que morra de câncer. Se você soubesse como é feio e repugnante. Logo ela que sempre tivera algum raio de ternura para mim...
- A face da morte nunca é bonita mesmo.
- Nem sempre; depende do que se morra. Mas o câncer é cruel. Levantou-se para varrer a emoção da lembrança. Serviu-se de um
conhaque e ofereceu outro a Paula. Espreguiçou-se.
- Você me fez remexer num baú velho de reminiscências; acho que só você o conseguiria. Bem, o resto tem pouca importância. Tornei-me um rebelde. Para tudo havia um dístico me acompanhando: "você não nega que é índio." "Não nega que é Pinagé". índio era tudo de mais repugnante que podiam me tachar. Tinha grande amizade e queria mesmo muito bem a meu pai, mas ele não gostava de mim. Nunca signifiquei até agora qualquer coisa para ele. Resultado: Tenho duas mães e não possuo uma. Tenho dois pais e não possuo nenhum. É melhor assim. Mas voltando a um ponto importante. Quando terminei meu curso ginasial, onde sempre fui o primeiro aluno, aumentaram minha idade para que pudesse fazer vestibular na faculdade; fiz um ótimo curso de medicina até às provas finais do segundo ano. Depois com a mesma capacidade de destruição que sempre tive, abandonei tudo. Talvez para ferir o meu pai que esperava que eu continuasse com o seu consultório. Mas não dava para médico. Fiz um concurso na Marinha Mercante e passei em primeiro lugar, embarquei pelas costas do Brasil como oficial de convés, conferente de carga etc. etc. etc...
- Tem ainda dois pontos que eu gostaria de saber. Depois deixo você ir dormir em paz, isto é...
- Diga.
- Em que mudou na família a morte de sua avó.
- A fortuna, que tinha sido dilapidada aos poucos pelos filhos mais velhos, deixou aparecer em quase nada depois. A velha, inteligentemente, no testamento, para evitar brigas entre filhos, deixara a vasta mansão para os padres salesianos fazerem um colégio para menino pobre. Doeu um pouco ver as reformas que os padres fizeram, acabando com os jardins, ampliando os fundos da casa, modificando e encompridando a capela. Mas o que ficou: alguns terrenos e algumas casas, foi dividido com todos. E cada um foi para o seu lado. O que mais?
- E como você se tornou modelo profissional de nu?
- Com a minha independência de tudo, relaxei com o serviço militar. Fiquei de um jeito que nada podia fazer.
- Marinha Mercante não dava direito a reserva da Marinha?
- Dava. Mas quando cheguei no Rio, era época de minha folga. Pelo menos um dia para rever a cidade e os amigos, parentes até. Mas o imediato que tinha uma implicância danada comigo, porque nos portos tudo quanto era rapariga queria dormir comigo de graça e ele não conseguia nada...
Aí, soltou uma gostosa gargalhada.
- Naquele tempo, Paule, eu era uma uva mesmo. Campeão de natação de todas as distâncias, com um peitaço que era um verdadeiro berço para um rosto de mulher.
- Convencido.
- E era sim. Todavia, voltemos ao assunto. Por vingança ele escalou-me para trabalhar. Reclamei. Discutimos. Ele me xingou. Eu suspendi o homenzinho sobre os ombros e ia arremessá-lo no porão. Seguraram-me a tempo. Aí tive folga pra sempre e perdi o tempo de bordo, porque não deram desembarque em minha carteira. Veio o pior. Quando fiz vinte e um anos, apresentei-me ao exército com uma raiva danada. Sempre odiei a farda. Sabe o que me aconteceu? Estava insubmisso por um mês. Fui escoltado para a Vila Militar, ciente de que se servisse ao Exército, seria transferido para o CPOR, problema mais angustioso ainda por não ter dinheiro nem para o fardamento. Fui a exame médico e descobriram um desequilíbrio de coração. Deram-me uma incapacidade temporária de um ano. Voltei feliz à minha bateria, porque em um ano quebraria o galho. Surpresa me aguardava. Teria que cumprir a pena de dois meses à guisa de castigo da insubmissão. Quinze dias agüentei; precisava de dia ficar nu para dentro dos banheiros para lavar minha roupa. Uma imundície. A bateria estava repleta de gente fedorenta, suada, imunda. Não sei que diabo é, nem quero saber. Se o meu processo biotipológico funciona exato ou não. Mas acontece que na minha formação ou os trinta por cento de glândulas femininas ou os setenta por cento de potencialidade masculina, ou mesmo os dois juntos, não suporto cheiro de suor de nenhuma espécie. Fui ficando macambúzio, sem vontade de comer... Imagine o que se deu?
- Ficou doente.
- Não, meti os pés no muro e fugi. Fugi para a liberdade e aventura, passando a desertor. Danei-me para a selva. Fiquei mais de um ano lá. Passei tempo de chuva e de seca. Trabalhando no machado e no remo. Abrindo estradas e derrubando pé de mangaba nos campos de aviação. Uma beleza. Se me pegassem a pena seria dura. Mas agora resolvi tudo. Nem faz vinte dias, logo que cheguei.
- Então você já é reservista? Como conseguiu?
- Já sei. Se ainda não o fosse, você teria um parente no Exército que...
- Roubou meu pensamento.
- Consegui do modo mais sórdido.
- Conte assim mesmo.
- Paule, você sabe que eu não gosto de mentiras. Nem mesmo por cinismo. Pois bem, quando eu cheguei bem queimado, fortíssimo, num bar conheci um sujeito muito bem educado que se apaixonou por mim. Ele era desses que têm as glândulas ao contrário. Como descendia de um grande general da História do Brasil e seu pai por sua vez era um general do momento do Brasil, ele disse que me arranjaria a carteira de terceira sem que houvesse perigo de ser preso. Mas...
- Teria que dormir com ele.
- Exato.
- Que horror!
- Se eu soubesse que um dia seria a estrela que você procura desde que a estrela foi criada, teria esperado por você. De tudo que ficou porque nada disso me conspurca, foi um pijama azul de seda e um cidadão do Brasil legalizado. Na hora de jurar a bandeira tudo que faziam a gente jurar eu colocava um não na frente. Como iria lutar, guerrear, se sempre fui contra a guerra, a mortandade e o ódio?...
- Você é um monstrinho!
- Mas coerente comigo mesmo.
- E ele?
- Ele quem? ah! o coisa. Pediu-me para voltar outras vezes como é natural. Mas eu, já de posse da carteira e cumprida a minha palavra, olhei para ele e disse calmamente: "sabe de uma coisa, vá à merda!"
Paula riu demoradamente.
- Uma coisa eu não cheguei a compreender. É que você com a carteira continuou posando de modelo.
- Uma questão disciplinar. Tinha que concluir as poses para não prejudicar o trabalho de ninguém. Mas mesmo assim não tinha a certeza de mudar de vida. Fazer outra coisa seria o mesmo que fazer outra coisa. E não havia grande ambição de ser nada em minhas ambições.
Beijou Paula maciamente e bocejou.
- Ei vida! Vida!...
Custava passar o gosto amargo de certos dias. Talvez que a velhice, com a continuação, os fosse deixando permanecer mais com aquele amargor desagradável. Havia dois dias em que tivera a sua grande crise de desabafo, agora caminhava pelos cantos quase como um sonâmbulo, catando aqui e ali qualquer coisa que recreasse o mesmo entusiasmo de vida que o pesadelo tinha destruído.
- Ir para frente, Frei Abóbora. Viver como se nunca fosse morrer. O velho Tom: o velho Tom com a sua longa ventridão de sabedoria. Possivelmente a época moderna se afigurava mais difícil para que os homens se santificassem. Se vivos fossem agora Chico, Tom e Gus, acondicionariam qualidades para a santificação como o fizeram nas épocas passadas? Talvez Chico porque a sua humanidade continuava muito atual. Talvez Tom porque as pessoas gordas pecam menos. Mas Gus, com a facilidade dos tempos modernos, principalmente o desenvolvimento das tentações, ia dar um duro louco para superar os obstáculos.
- Besteiras. Besteiras. Estou julgando e quem sou eu para julgar?
Fazia dois dias que não avistava Xittitinha. Que se teria passado com a bichinha? Talvez tivesse morrido e ninguém notasse. Como os milhares de lagartixas que somem sem ninguém se aperceber. Saiu pelos caminhos conhecidos chamando com doçura.
- Xittitinha!... Xittitinha!...
Rodou a cozinha, penetrou no quarto de desenho. Naquela hora ela costumava cochilar num buraco atrás de um velho caixote.
- Xittitinha!
Arredou o caixote e espiou o buraco. Ela vinha saindo aos pouquinhos.
- Ah malandrinha, onde você tem se escondido?
Mas ela não se atrevia a deixar o buraco. Nos seus olhos perpassava a sombra de um constrangimento.
- Pode sair, bobinha. Você ficou com medo da bebedeira de Frei Abóbora? Já passou. Juro que não lhe farei nenhum mal.
Entretanto ela permanecia indecisa.
- Venha, querida, estou me despedindo de cada um de vocês. Amanhã vai passar um grande avião que me levará para longe. Não quer?
Em vista daquilo, Xittitinha criou ânimo e arrastou-se para fora do esconderijo.
Ab não conteve um grito de decepção. Xittitinha estava incompleta, faltava o pedaço do rabo.
- Coitadinha. Era por isso. Deve ter doído muito. Mas não faz mal, vai nascer outro logo. E como você ainda é novinha, se recupera. Olhe. Amanhã quando Frei Abóbora partir, você e as outras tomem muito cuidado. Infelizmente nem todos os homens gostam de fazer nascer no rosto dos outros o sorriso dos anjos, viu? Cuidado que os meninos da rua e os pequenos índios, virão aqui caçar vocês com estilingues e bodoques. Você avise, lembre disso, aos outros. Fale com os pássaros, fale com os lagartos, está bem?
Sorriu para a bichinha estropiada mas não deixou de sentir um engasgo esquisito.
Foi até o Poção dizer adeus aos peixes. Com eles era pior. Estava o cardumezinho bem taludo e fácil de pescar. Logo, logo, a lagoa diminuindo o volume das águas, não alimentaria o córrego, e este sem forças não teria vida para dar ao Poção. A fonte pararia de cantar. As águas do Poção iam perdendo a vivacidade e esverdinha-mento, para se engrossar e definhar. Então os pássaros do céu desceriam sobre os peixes para dizimá-los. Isso se não viessem os cabeçudinhos dos anjos morenos que comiam goiabada, com flechas e anzóis...
Foi por essa razão que encheu as mãos de farinha, de arroz cozido, até de restos de aveia, e foi distribuindo em silêncio vendo aquela festa de vida e alegria que não tinha muito mais tempo para durar. Com as mãos mergulhadas, deixava que os aflitos mandis se refestelassem. Não havia nada a dizer. Em três dias, se tanto, eles perderiam os reflexos condicionados e vendo que o homem não voltava, procurariam, enquanto vivos, o seu modinho de tocar o tempo.
Subiu o barranco e espiou o rancho, os coqueiros e o verdor dos mandiocais. Queria decorar a paisagem, gravá-la no coração, para num momento mais duro, trazer aquela lembrança de verde e de ternura.
Aí então foi mais duro. Faltava ela. Ela. Não podia furtar-se a isso. Disfarçou de cá, foi para lá, mas retornou ali. Ali onde ela deveria estar esperando.
Em um mês Zéfinêta crescera, se tornara uma redonda lagartixa. Logo, logo, estaria se acasalando e indo fazer ninho no pé de canjirana. Até já dera para fazer grandes passeios no seu tronco, pesquisando o futuro, fazendo planos.
Pela aflição dos seus olhos redondos, ela já deveria ter adivinhado tudo. Foi tendo uma comoção apertada e ficou com os olhos cheios dágua. Dessa vez chorava mansinho, oh, homem tão chorão 1
- Olhe...
E custavam a nascer as palavras.
- Olhe... eu... não vim brigar com você por causa da cauda de Xittitinha. Não precisava ter tanto ciúme, porque você, minha querida, sempre foi a minha predileta. Mesmo sabendo que cauda de lagartixa se renova e se recompõe, você não precisava fazer isso com a outra, porque afinal de contas ela é quase um bebezinho... e deve ter doído muito...
Calou-se para recuperar-se.
- Mas não é nada disso.
Deu um arranco e comunicou abruptamente.
- Amanhã cedinho, eu vou-me embora, Zéfinêta.
Limpou uma lágrima teimosa que descia mesmo não querendo.
- Queria agradecer tudo que você fez por mim. Tudo. Você mereceu ser uma rainha, você mereceu o belo nome de Zéfinêta "B"' e Única."Se não fosse a sua grande simpatia e compreensão o que seria de um homem que de rico só tem uma sombra e só por companheira a tristeza obrigatória. Sim, meu bichinho lindo. Pena que você não possa sentir tudo o que meu coração está pensando. Amanhã eu vou. E quando eu for, me lembrarei sempre de você com amizade, minha rainha.
Foi ficando mais emocionado, quase nem podia mais falar.
- Tome cuidado com os meninos, com os homens. Avise aos pássaros que não deixarei nada para eles. Que amanhã, quando encontrarem as vasilhas emborcadas e as janelas sem abrir, que me perdoem. Preciso fazer assim para que eles se afastem o mais depressa possível daqui, porque virão os meninos com estilingues e arapucas. Tomem cuidado e vivam!
Passou as costas das mãos sobre os olhos. E vendo que não chegavam, limpou os olhos com a fralda da camisa.
- Que bobo que sou, não, Zéfinêta? Feliz é você que nem precisa chorar. Mas são dessas coisas necessárias aos homens para que eles não rebentem. Mas tome cuidado, minha bichinha linda. Um dia se eu voltar aqui quero ver esse mundo povoado de Zéfinêtinhas levadas. Adeus.
Levantou bem cedo para fazer o testamento da sua miséria. Os índios viriam buscar o resto de mantimento que sobrara, duas caixas de fósforo, um meio litro de querosene. Reuniu tudo sobre a mesa e teve o cuidado de colocar junto o espelho onde costumava fazer a barba.
Fechou a cancelinha da entrada e saiu sem fazer barulho.
A vida estava ainda adormecida. Mas Zéfinêta "B" de cima do telhado observava, angustiada, sua partida.
Ele depositou o pequeno saco no chão e abençoou com os olhos, emocionado, cada coisa do rancho. Depois pediu assim a Deus:
- Fazei que cada um não sofra muito com a morte. Por minha parte, Deus, obrigado. Obrigado, pelos pássaros, pelos peixes, pelos inúmeros bichinhos que tanto me ampararam.
Emborcou as vasilhas e saiu em direção à trilha, se perdendo devagar entre o mandiocal.
Zéfinêta nem sabia o que fazer. Desceu do telhado para a parede. Na parede ficou observando todo o cenário que perderia agora a beleza. A flauta de música da voz do homem. Tudo seria do mesmo jeito que antigamente era. Um mundo desabitado. E quando viesse gente, não traria o mesmo espírito de bondade e de poesia.
Balançou indecisa a cauda para o lado e continuou descendo lentamente a parede. Algo morrera em sua alminha. Algo nascera, que doía tanto, que nunca pensara assim. Um adeus era a pior coisa que vira até àquele momento no limitado tempo do seu mundo.
Caminhou pelo chão procurando ouvir o macio dos seus passos. E nada. Olhou o verde ainda escuro da mata que se fechara sobre as suas costas. Sabia que ele não voltaria mais.
Subiu na mesa para examinar as coisas que deixara para os amigos índios. Como era pobre o seu amigo. Só tivera aquilo para deixar. Não sabia chorar, mas sua alma estava molhada de tristeza. Sua tristeza era todo um rio que se enchia no tempo das grandes águas. Viu o espelho refletindo as traves do teto. Subiu sobre ele e deslizou. Parou para se olhar.
- "Feliz é você que não precisa chorar..."
Não, não era feliz. Precisava chorar e não sabia. Relaxou o Corpo e ficou deitada cheia de dor sobre o frio do espelho. Olhou os olhos, olhou os olhos, olhou os olhos... Foi então que veio aquela grande dor. Compreendeu que os homens viviam tanto porque chorando evitavam aquela dor. Mas ela não, era uma simples lagartixinha sem defesa, sem nada, de olhinhos redondos, sem lágrima alguma. E a dor veio crescendo, doendo toda, desde a espinha até a ponta dos dedos. Quando chegou ao máximo, ela não resistiu.
Quando os índios vieram buscar as coisas, logo depois que ouviram o ronco do avião levantando vôo, pegaram o espelho espantados com o lugar esquisito que escolhera aquela lagartixa Dará morrer.
SEGUNDA PARTE - Pedaços da memória
Primeiro Capítulo - Espumas de Sucesso
PAULA aproximou-se e murmurou ao seu ouvido.
- Você esperava tanto assim, Baby?
Os olhos dele tinham um brilho contínuo de alegria e encantamento.
- Nem a metade, Pupinha.
Caminharam atravessando a sala cheia de gente e foram sentar-se num dos cantos da galeria.
Tomou-lhe as mãos entre as suas e olhou a moça com ternura infinita.
- Posso lhe dizer alguma coisa que estou sentindo dentro de mim e que acho que ainda não lhe disse, apesar de tanto tempo?
- Hum-hum.
- Paule, eu te amo!... Como eu te amo, Pô!...
Ela cravou as unhas nas palmas de suas mãos e fez-lhe uma breve e sutil repreensão.
- Seja discreto, doidinho. Porque senão eu não respeito a presença de ninguém e me atiro em seus braços e mordo os seus lábios aqui mesmo.
- Pô...
- Que mais?
- Esse é o primeiro minuto que estamos juntos hoje.
- E vai ser curto porque está chegando mais gente. Mais conhecidos. O que significa uma promessa de aquisição.
- Quando vai acabar tudo isso? Seria tão bom que nós fôssemos para o meu apartamento. Preparei uma porção de coisas de que você gosta...
- Por que não o meu?
- Hoje não, Paule, Paule. Só hoje, você entende? Ela riu com amor para ele.
- Entendo.
Fez menção de levantar-se. Mas ele apoiou a mão firme em seu braço, detendo-a.
- Uma coisa, Pupinha. Estou me sentindo um pouco grogue. Não sei se é de felicidade ou do champanha.
- São os dois, Baby. É a embriaguez do sucesso.
- Pô, você está linda. Você sabe que eu não gosto de cor-de-rosa. Porém o róseo lhe dá um tom lindo à pele.
Ela sorriu.
- É o mais velho truque da mulher, desde que inventaram as cores. O róseo dá um rejuvenescimento, enorme, bobinho. Quando as mulheres já deixaram de ser brotinhos, têm que usar certas chantagens com as cores. Que pintor é esse que ignora uma coisa dessas?
- Ignoro tudo, mas você pode esclarecer de vez em quando assim como... Paule, Paule, você me ama?
- Amo tanto que vou ter que deixar você. Veja quem vem vindo. Atravessando o salão, derramando um sorriso que iluminava,
Gema veio se aproximando ruidosa. Beijou Paula em ambas as faces.
- Atrasei por causa daquela infernal Escola de Bailados que não me dá um segundo de folga. Cadê o gênio?
Ele levantou-se e recebeu nas faces o beijo da amiga.
- Estava procurando pelo gênio.
- Só se for o gênio B... Paula censurou-o.
- Hoje não, Baby. A festa é de gala...
Gema deu uma daquelas gostosas gargalhadas e sentou-se ao lado de Baby.
- Tome conta dele que eu preciso dar uma espiada por aí.
Gema olhou divertida os olhos do rapaz que se sumiam num sorriso constante e também pelo efeito do álcool ingerido.
- Gemoca, que bom você ter vindo!
- Muita venda?
- Nem sei. Porque não consigo prestar atenção a nada. Diz Paula que já reservaram vários. Só sei que estou com os músculos do rosto doloridos de tanto sorrir.
- Amanhã vocês jantam comigo lá em casa, certo?
- Por mim, certo. Depende de Paula.
- Já papeei isso de manhã com ela... Por que está rindo agora?
- Sei lá. Tanta gente, tanta fotografia, tanta compra... e eu fico pensando se realmente meus desenhos e óleos valem alguma coisa.
- Essa é a dúvida mais velha de um artista. Não vá pensar que Renoir, Gauguin, Van Gogh estavam certos da arte que praticavam.
- Bem. Já é um consolo.
- A Lady Senhora veio?
- Imaginei Minha doce inimiga íntima mandou umas flores e um cartão gentilíssimo. De quem vem já é o máximo!...
Ficaram comentando coisinhas de inauguração de pintura. Nem parecia que tudo aquilo fazia parte de sua festa. Paula percorria o salão cumprimentando pessoas, analisando os quadros, dando uma opinião sobre o que mais gostavam. Os olhos de Baby, quase se fechando, acompanhavam o seu passeio sem perder um só detalhe dos seus movimentos.
- Gemoca, você não acha que Paula está linda?
- Sempre ela foi linda. Sempre foi um amor.
- Mesmo de róseo ela fica linda. Aliás você também está. Eu também estou. Todo mundo está lindo hoje. Até aquela magrela lá de branco, fina e transparente como um envelope aéreo.
- Cale a boca, maluco. Aquela é Denise Longchamps. Rica até a alma. Deve ter comprado pelo menos dois trabalhos seus.
- Sabe o que eu faria agora, Gemoca?
- Boa coisa não poderia ser.
- Eu afastava todo mundo e sairia dançando uma valsa de Strauss com você. Desceríamos as escadarias da Galeria. E ficaríamos dançando como dois louquinhos pela Rua São Luís. Uff, que calor! Será que posso desapertar a coleira?
Gema ajudou-o na operação.
- Burrice inventarem isso. Paula disse que quando eu for um artista de verdade, poderei andar como quiser. Você não bebe nada? Tem um coquetel de champanha que Elisabeth Taylor inventou prá gente, que é um sonho, champanha e suco de laranja e não sei o que mais. Quando o garçon passar perto a gente toma um.
- Só eu; você já está que nem abre os olhos.
- Não abro mesmo, Gemoca, mas a verdade é que nem assim consigo diferenciar um pesadelo que me persegue: hoje champanha, ontem média e pão sem manteiga. No lugar da manteiga comia outro pão...
- Isso já passou. Esqueça.
- Passou sim, graças a Deus.
Deixara Paula entretida com os amigos e viera mais depressa para casa, impulsionado pelos efeitos do álcool. Nem sabia como abrir a porta porque tudo parecia girar em volta. Sobretudo porque trazia numa das mãos as belas rosas da Lady Senhora. Foi preciso encostá-las no chão e tentar de novo. Dentro, acendeu a luz do hall e premiu os olhos com força como se procurasse nesse gesto, encontrar o equilíbrio de que tanto precisava.
Agora, as rosas. Que fazer com elas? Entrou na sala, no quarto, na cozinha, mas onde houvesse um utensílio que coubesse água, este já havia sido utilizado antes por Paula para colocar outras flores. E agora? Havia o jarro em que colocava os pincéis. Caminhou para o atelier e nem isso escapara. Estava frito, tonto, com as rosas nos braços sem saber como agir. Paula era doida. Doida e generosa em tudo. Certamente o seu apartamento estaria ainda mais florido. Lembrou-se do banheiro e tomou a sua direção. Analisou o conteúdo. A banheira era muito grande para caber as flores. A pia, iria logo, logo, precisar dela. Porque assim que vomitasse no sanitário, teria que lavar-se. Só havia um jeito. Encheu o bidê e colocou desaprumado uma por uma, as rosas: ficou lindo. Afinal aquilo ali era mesmo para se colocar as flores mais lindas do mundo. Sorriu satisfeito e antegozando o riso de Paula quando descobrisse a sua maneira de agir.
Foi para o quarto e jogou o paletó no chão. Despiu-se quase sem poder. Sentou-se e tentou retirar o sapato. Mas a cabeça rodava tanto que não dava mesmo.
Voltou ao banheiro para realizar os primeiros pensamentos. Depois, mais aliviado, foi atrás de uma cafiaspirina e bebeu-a, não sem antes derretê-la na língua.
Tornou ao leito e intentou retirar os sapatos. Como da primeira vez, ainda era muito cedo porque o chão rodopiava mais.
Jogou-se, suando frio, apertando as têmporas com as mãos e gemendo ficou, por algum tempo tentando paralisar a cama que oscilava como um pêndulo. Cochilou um pouco diminuindo o mal-estar.
Quando entreabriu os olhos Paula já se encontrava perto. Apagara a luz do quarto deixando que ele se alimentasse da luz que vinha do hall. Dera ordem em tudo.
- Pô!
- Que foi, meu bem?
- Estou morrendo, Pupinha.
- Espera aí que já passa tudo.
Foi até a sala e apanhou um comprimido de Alka Seltzer e deixou-o dissolver-se n'água.
- Agora tome isso, lembrança da nossa amiga Gema que adivinhou de longe como eu iria encontrá-lo.
Bebeu devagar com medo de uma inesperada indisposição. Paula recostou-se na cama.
- Agora deite a cabeça no meu colo que tudo passará rápido.
Obedeceu choramingando como uma criancinha. Paula alisava suavemente seus cabelos e sua testa para afastar a dor que deveria estar sentindo.
- Pô!
- Diga.
- "Je te deteste"! Ela sorriu feliz.
- Muito ou pouco?
- Olhe o que você fez de mim, um defunto.
- Fique quietinho e durma um pouco, senão demora mais.
Ficou um segundo parado, mas não resistiu. Estava em maré de pileque falado, empurrado pelo nervosismo da noite.
- Pô!
- Que é?
- Pô, sabe qual era o meu medo? Era que não se vendesse nada. E não desse para pagar as despesas da Galeria. O coquetel de champanha...
- Tontinho! Vendeu quase tudo. Agora vamos preparar outra, no Rio.
- Pô!
- O que é agora?
- Você não deixou nada para eu colocar as flores que sua mãe me mandou.
Ela deu uma risada gostosa.
- Estão muito lindas "lá". Imagine a Lady Senhora vendo aquilo.
- Juro que não achava nada mesmo! Estava me sentindo mal. Afinal encontrei aquilo... Sou um fracasso, Pupinha. Eu que tinha esperado tanto por essa noite, por essa lua-de-mel, agora estou num fogo desses. Que horas são, Pô?
- Uma da manhã.
- Estou quase dormindo, Pupinha.
- Então durma que é bom.
- Preciso dizer alguma coisa ainda. Posso?
- Evidente que pode.
- Eu não detesto você, Pupinha. Cada dia que passa eu gosto mais de você. É uma coisa tão boa que me faz o coração estourar de tudo. De meiguice, de gratidão, de amizade... Você pode imaginar a maior ternura do mundo? Uma ternura comprida que não acaba mais? Uma ternura tão grande que parece duas ternuras: uma atrás da outra? Pois bem, tudo isso é para você. Pupinha, nunca me deixe. Nunca, senão eu morro... Você promete?
Paula encostou a cabeça sobre seus cabelos e no coração sentiu aquela delícia que faz o peito estremecer de calor e vida. Aquilo era a palavra viva da felicidade.
- Prometo, sim. Agora durma.
Ele começou a ressonar de leve e logo adormeceu.
Paula ficou naquela posição sem se mexer, esquecendo do tempo e do incômodo que poderia sentir. Nada mais queria na vida. Nada mais.
Ela também adormecera e pendia a cabeça sobre o ombro. A mão continuava mergulhada nos cabelos de Baby.
Ele respirou forte e abriu os olhos. Libertou-se com cuidado do colo de Paula e acendeu a luz do abajur. Paula acordou meio assustada.
- Estou bom, Pupinha.
Beijou-a no rosto, nos cabelos, na testa.
- Estou novinho em folha. Foi você quem tirou os meus sapatos?
- Quem poderia ser? O anjo da guarda?
- Sabe o que eu vou fazer, Pupinha?
- Não sei bem o que, às quatro e quinze da manhã.
- Vou tomar um belo banho de chuveiro. E depois vou preparar para você a ceia que deixei guardada na geladeira. Quer?
- Acho que estou morta de sono. Foi um dia excitante.
- A gente tem muito tempo para dormir depois que morre. Enquanto estamos vivos, vamos viver!
Pegou Paula pelo braço.
- Venha comigo, Pupinha. Me ajude.
Ela ergueu-se sonolenta e acompanhou o rapaz.
Sentou-se na cozinha, em volta da pequenina mesa e bocejou.
- Hoje sou hóspede. Você se quiser que prepare tudo. Ota gente para dar trabalho!
- Espere ai. Isso, apanhe um cigarro. Pode botar a cinza aqui nesse pires mesmo... Assim.
Entrou no banheiro, sorriu para as rosas e abriu o chuveiro. Gritou de lá.
- Você não quer também?
Nem respondeu. Ficou ali analisando o ambiente, com uma preguiça que era mais um mormaço, na alma. Escutava o ruído da água e o cantarolar baixinho do rapaz, como se fosse tudo longe, num infinito perdido. Estava contente, tão contente que daria a vida para encontrar-se enfiada na sua cama, como uma boa colegial que tivera boas notas ou um escoteiro que praticara uma boa ação. A cama seria o prêmio mais imediato que desejava. Aguardaria que ele acabasse o banho, daria um beijo em sua testa e iria procurar o seu carro, para retornar à casa.
Sentia o aroma do sabonete invadindo a cozinha. O sabonete que fazia questão de indicar a marca. O chuveiro parando e em segundos o rapaz aparecia com um robe de seda amarelo sobre o corpo. Enredou os braços no pescoço de Paula para sussurrar-lhe ternura.
- Demorei muito, minha vida?
Paula não respondeu. Deixou-se apenas acariciar.
- Que foi, Pupinha?
- Nada.
Sentou-se em frente à moça e estranhou seu estado de apatia.
- Está zangada, querida?
Negou com a cabeça mas seus olhos estavam a ponto de chorar.
- Oh, Paula 1 Que foi isso?
Ajoelhou-se perto dela e suspendeu o seu queixo entristecido.
- Já sei. Dou muito trabalho a você, muita preocupação. Talvez eu não mereça tanto, mas meu coração está cheio de gratidão pelo que você faz comigo.
Ela conseguiu falar.
- Não é nada disso, Baby. Talvez a preocupação destes últimos dias. Talvez o corre-corre de convites, pedidos a jornais, televisão e rádio. O medo de que "eu" fracassasse...
- Mas tudo deu certo, meu bem. Você foi perfeita.
- Pois não sei explicar. Talvez a felicidade me faça chorar assim. As lágrimas escorriam pelo seu rosto.
Baby ergueu-se e sentou-se na cadeira a seu lado. Tomado de verdadeiro carinho, puxou Paula, fazendo-a sentar-se no seu colo.
- Quem é o meu bebezinho agora?
Passou as mãos ainda quentes do banho sobre os seus cabelos, afastando-os para cima. Apanhou o lenço no bolso do robe e limpou suas lágrimas.
Ninou-a como se fosse mesmo uma criancinha.
- Você está cansada. Não quer experimentar um pouquinho do que há na geladeira? Um pouquinho da festa que fiz para nós dois?
- Não se zangue, Baby, mas eu queria era ir para casa.
- Você está em sua casa, Pô; o meu coração é a sua casa. É tudo quanto posso oferecer a você agora. Não deixarei que parta nesse estado de ânimo. Aperte seus braços em meu pescoço: assim. Upa!
Levantou-se carregando Paula nos braços em direção ao quarto. Depositou-a docemente na cama.
- Vou retribuir aquilo que você fez comigo horas atrás. Começou a despi-la sem pressa. Ela deixava-se levar como uma
linda boneca fatigada.
Retirou o robe de seda e também deitou-se a seu lado. Virou-se apoiando o rosto em seu bíceps e ficou contemplando o rosto de Paula de olhos fechados.
- Estava pensando, Paula que em dois anos você me tornou outra pessoa. Até bom eu dei para ficar.
- Você sempre foi bom, Baby. Estava apenas de mal com a humanidade.
Ele sorriu.
- Reparou, Pupinha, como nós temos a mania de fechar os olhos em certas ocasiões?
Ela não respondeu, apenas passou os dedos sobre o seu braço. Fizeram uma pausa, sem enxergarem os anjos que voavam na semi-obscuridade.
- Baby!
- Hum-hum.
Subiu as mãos do seu braço até suas costas e demorou-se no seu pescoço. Depois atraiu-o para perto dos seus lábios e falou baixinho.
- Baby, eu queria... Ele beijou o seu ouvido.
- Eu_ queria, Baby, você seria capaz?... O mais doce possível. Só hoje...
- Como se fôssemos apenas duas ternuras se alisando?
- Quase isso.
- Ou como o vento macio que arrepia as águas das lagoas da selva?
- Você pode?
- Eu te amo, meu amor.
Colocou seda nas pontas dos dedos para acariciar Paula. Encheu de veludo toda a sua posse.
Depois ficaram em silêncio novamente. Paula beijou-o na face.
- Obrigado, querido. Hoje era tudo quanto eu queria e poderia fazer. Você compreende?
- Hum-hum. Agora você precisa dormir um pouco.
- Já tentei, mas não tenho sono.
- Nem eu.
- Quer continuar conversando até que ele venha?
- Quero. Mas quando começar a dormir, ou quando começarmos a dormir não vá me acordar de madrugada dizendo que precisa fazer alguma coisa.
- Juro que não. Se eu precisar sair...
- Sair para que, Baby?
- Os jornais. Você não tem curiosidade?
- Já pensei nisso também. Mandei Dambroise comprá-los. Dos que trouxessem as notícias comprasse vários exemplares.
- Você não esquece nada. Ela acarinhou-o sem rumo.
- Fiquei muito preocupada na exposição. Não sobre o seu sucesso, mas sobre você.
- Estava tão mal assim?
- Ao contrário: isso foi o que me afligiu. Quando reparei os olhares de certas damas: verdadeiros olhares de pata gulosa. Quando vi certos sorrisos, certas coisinhas que as mulheres pressentem de longe... Não sei não.
- Pois eu nem notei. Pupinha, não vá me dizer que sentiu ciúme.
- Por que é que vivo escondendo você de todo mundo, bobinho? Pensa que me arriscarei assim? Depois, querido, você tinha um charme selvagem, uma espontânea timidez que virava a cabeça de qualquer uma...
- Ninguém me interessa na vida, Paule, Paule. Só existe você e nada mais.
- Sim, mas você esquece de muita coisa com rapidez.
- Ah, Pupinha! Verdade que tive uns pequenos deslizes. Umas pequenas tentações. Mas...
- E se fosse eu que tivesse essas pequenas tentações?
- Aí era diferente. Eu comprava o maior canhão do mundo e sentava um tiro na bunda do atrevido.
Paula sorriu.
- Vocês homens são sempre os mesmos. Bocejou compridamente.
- Soninho está chegando?
- Já, já. Se você contar qualquer coisa eu durmo sem ver o fim.
- Quer que eu conte?
- Conte... conte o que mais o impressionou durante o seu sucesso.
- Você vai achar esquisito. Mas no momento de maior emoção, no maior movimento, na lufa-lufa, eu consegui um instante sentar-me num canto e sabe o que pensei naquele instante?
- Não.
- Eu me lembrei de uma viagem que fiz por Goiás. Quando chegamos com uma caravana na velha capital de Goiás...
...Vinham os caminhões cobertos de poeira, lembrava-se bem, as estradas em tempo de seca, ainda não asfaltadas, suspendiam um fumo róseo de terra que sufocava. A par disso, o tempo se tornava de fogo porque as grandes chuvas se aproximavam. Tinham chegado a Goiás velha, ao entardecer. A cidade cercada de pontes velhas com o Rio Vermelho relembrando tradições e serpenteando entre as pedras, recolhia-se entre as montanhas circundantes para dormir.
Ficaram hospedados num velho hotel terrivelmente anti-higiênico, Depois do banho e de uma refeição horrenda, alguém lembrou:
- Que tal se a gente fosse dar uma volta na zona?
- Será que tem disso por aqui?
- Que tem, tem. Mas deve ser o fim da picada: só de chegar perto a gente pega doença.
Todos mudaram de idéia, porque na madrugada seguinte a viagem prosseguiria dura. E a estrada que levava até às margens do Araguaia era de uma fama nada recomendável.
- Porém, um repórter japonês insistiu na história.
- Ei? você sertanista, não quer dar uma volta comigo? Sei que você conhece todos esses buracos por aqui.
Foram. Caminharam pelas ruas de largas pedras. Ruas por onde as grandes bandeiras tinham atravessado os séculos. A luz dos postes era quase inexistente, porém tornava-se gostoso caminhar olhando o rio sinuoso entre as pedras.
Tomaram em busca do mercado e a noite escura se derramava numa exuberância de estrelas. Mundo de solidão. Estranho mundo dos homens I
- Deve ser por ali. Antigamente havia um cabaré numa daquelas entradas.
- Deve ser lá mesmo. Pelo número de homens parados perto da porta, não poderá haver engano.
- Pode-se perguntar. Não custa nada.
Aproximaram-se e perguntaram. Uma meia dúzia de homens de barba por fazer, vestidos invariavelmente de camisas de xadrez observava a aproximação dos estranhos.
Sem nada responder à pergunta, apenas indicaram a porta, onde uma luz mortiça apresentava um comprido corredor.
Caminharam devagar e com cuidado. Desaguaram num salão grande onde as luzes, apesar de ainda fracas, eram abundantes. Homens de caras iguais e barbas por fazer, encostavam-se pelos cantos das paredes. Algumas mesinhas cobertas por toalhas quadriculadas de azul e vermelho achavam-se vazias.
Num canto algumas mulheres amontoadas. Geralmente usavam cabelos louros mal pintados e vestiam-se de cor escura, com as mangas cavadas exibindo as axilas.
Em sentido contrário, a orquestra. Mal tinham penetrado completamente no salão, quando a música como se fosse ligada numa tomada, principiou a tocar um bolero: Nosostros.
Puderam examinar a simplicidade da orquestra: um violão, um pandeiro uma sanfona e um saxofone.
Com o ritmo do bolero, duas prostitutas adivinhando turismo e fregueses, enrodilharam-se uma nos braços da outra e vieram em direção dos visitantes.
Num sorriso mal feito e de dentes de ouro, tentando impingir simpatia no falar, uma perguntou:
- Os cavalheiros não querem dançar?
Ficaram indecisos no que responder porque a decisão fora já tomada sem nenhuma combinação.
- Acho que não, moça. A gente está cansado. Chegamos de viagem e só viemos dar uma espiadinha. Amanhã quando se estiver mais descansado a gente aparece.
A ratuína fechou o sorriso num desencanto.
- Amanhã não vai poder ser, porque nós alugamos a orquestra só pela noite de hoje.
Desculparam-se sem jeito.
- Então, dona, hoje não vai ser possível. Boa noite.
Iam já se retirando do salão quando um homem barbado comentou para eles:
- Tamém, essas dona nem num sabe seduzi...
Saíram e antes de chegar ao fim do corredor, como se fosse desligada a orquestra parou de chofre...
- Foi isso que eu pensei no momento mais impressionante da minha primeira exposição, Pô. Um mundo vasto e diferente, colorido e triste, feio e inexplicável... Sei lá o que... Dormiu?
- Não ainda. Coitadinhas!
- Vou apagar as luzes, quer?
Ela ofereceu a face para um beijo de boa noite ou de bons sonhos, porque em breve a luz da manhã irromperia pela vida afora.
Segundo Capítulo - Sylvia
DESDE que a felicidade é uma coisa completamente irrisória, Paula sabia viver dentro de uma quadrinha de calendário:
"Verdade, verdade triste
Verdade que nem se diz;
Felicidade consiste:
Em saber ser infeliz".
Portanto dentro da sua simples felicidade: sejamos felizes! Vinham em seguida os outros itens da felicidade:
- Evitar de qualquer maneira a monotonia do tempo.
- Não sendo possível, pelo menos tapear a monotonia do tempo.
- Por fim, fazer do tempo um tempo em função das coisas mais agradáveis.
Mais que isso era impossível. O resto que se escapava dessas máximas ela ainda enxertava com a ternura do amor. Pensando assim lhe aparecera na vida, quando mais ansiava, a estrela que sonhara desde que esta se criara.
Então como o amor é, mais que tudo, compreensão, ela estabelecia suas regras para fazer render a "não-infelicidade". Quando admitia que a sua vida poderia ser aguilhoada pela monotonia do tempo, colocava a cabeça de Baby em seu colo e comentava com a naturalidade que ele também sabia receber as coisas.
- Precisamos de umas férias, querido. Ou então:
- Estou sentindo que você está louquinho para dar uma chegada até os seus bugres.
Ele sorria afirmativamente.
- Porque você, Pupinha, nunca quis ir lá comigo?
- Pela mesma maneira com que você nunca quis ir à Europa comigo.
Riam-se ao mesmo tempo.
- Depois, você sabe, meu querido querido, minha selva verdadeira é Paris, com seus mundos de perfumes, teatros e exposições de moda.
- E você sabe que Paris não é a minha selva. Não tem índio, mosquito, sol, liberdade e os grandes rios cheios de selva e canoas.
- Então estamos quite.
- Estamos.
- E você me ama?
- Como nunca.
Verdade que de vez em quando - isso pelo menos cinco vezes por ano - arranjava um modo de tirarem férias e recomeçarem a lua-de-mel que a monotonia do tempo principiava a estragar.
Imaginava coisas formidáveis que davam sol e bronzeamento ao corpo de Baby, que davam sensação de liberdade e prazer. Descobria uma fazenda longe, de um parente seu. Conseguia um barco com toda a tripulação emprestado, e ficavam dias em alto mar; entre sol, nuvens e água. Ou fugia para Cabo Frio onde possuía um rancho tipo pescador, mas com todos os requisitos do luxo e bem-estar...
E assim, naquela habilidade louca de tricheuse como se autoqualificava, ia deixando que o tempo decorresse numa maré de suavidade e suportação.
A vida corria gostosa para os dois e seis anos já tinham passado sem quase notarem. Entre a sua dedicação às exposições do rapaz, forçando de um jeito irrefutável as galerias do Rio e de São Paulo" lutando com verdadeira ferocidade pelos salões onde ele devia expor, valorizando o seu trabalho, ela provava que não se enganara a respeito das estrelas e do destino. Mas...
O próprio destino tem seus caprichos e muitas vezes se contraria ao ver que estão mexendo demais nos seus desígnios.
Por isso uma manhã (as manhãs de Paula só existiam depois de uma hora da tarde), uma dessas manhãs tardias fora avisada por Dambroise que Baby já lhe telefonara três vezes. Mas que pedia para não acordá-la e também que telefonaria dentro de meia hora, por que não se achava em casa.
Esperou com paciência o novo telefonema, mesmo porque não tinha pressa alguma para aquela tarde. Experimentar roupas para o Grande Prêmio turfístico no Rio. A massagista que não tardaria a chegar. Um almoço muito leve. Uma pequena sesta, não propriamente sono, mas um relax habitual. Sorriu pesando o que Baby precisava falar com ela urgentemente. Muitas vezes, quando balançava a telha da sua loucurinha, ele usava aquele sistema: inventava milhares de pretextos e quando aparecia, vinha com a cara mais adorável do mundo, naquele abuso de beleza todo seu.
- O que era? - Fingia severidade para a ocasião.
Lá vinha ele, com aquela deliciosa mansidão de cachorrinho gatè.
- Não era nada não, Pô. Eu estava morrendo de saudade. Queria saber se você ainda gostava de mim a essa hora da tarde. Só quero isso.
Tomava-a nos braços e apertava seus lábios contra os dele.
- Só isso. Agora vou desenhar am pouco.
- Só isso?
- Eu pensei que era só isso. Preciso ir trabalhar.
- Mas você precisa mesmo ir trabalhar?
- Você não está achando que eu estou precisando trabalhar?
- Acho que estamos achando que não... O telefone tocou.
- Pupinha!...
- Que é?
- Preciso falar urgente com você.
- O telefone não resolve?
- Não. São coisas que a gente precisa mesmo conversar. Você não pode me ver?
- Estou esperando a massagista. Depois, preciso fazer umas coisas que homem nunca deve presenciar.
Sentiu a curiosidade pelo fio telefônico.
- Assim como?
- Não se contam essas coisas.
- Algumas coisas existem entre nós dois que nunca fizemos juntos?
- Pretensioso.
Ele se tornou adoravelmente súplice.
- Ah! Paulazinha de minha alma, você tem coragem de fazer coisas escondidas de mim? Depois diz que me ama, que eu sou tudo na sua vida...
- Mas isso você não verá nunca. Mesmo porque a massagista vai chegar dentro de segundos.
- Depois da massagista. Quanto tempo ela demora com você?
- Meia hora.
- Posso ir então depois dela? Sorriu deliciada.
- É coisa urgente mesmo?
- De vida ou morte.
- Você já almoçou?
- Como um leão da Metro. Mas tomo um cafezinho se você não cobrar.
Lembrava-se, num átimo do pensamento, que quando era modelo de nu no Rio, uma pintora o convidara para posar em seu apartamento em Copacabana. Uma hora custava cinco mil-réis. Que no meio da pose ela perguntara se gostaria de tomar um cafezinho. Dissera que sim, e a empregada viera com a bandeja, não sem antes arregalar os olhos ao ver a velha pintora com um homem quase nu no atelier. Pois na saída a pintora descontara os duzentos réis do cafezinho...
- Então, venha se é rápido, porque tenho muita coisa a fazer.
Pelo espelho, olhava Baby sentado no bidê contemplando o seu corpo nu.
- Que foi assim tão importante que não poderia esperar a hora do jantar.
Continuava olhando o seu rosto fascinado a devorar suas costas.
- Vamos, Baby, o que foi? Preciso fazer uma coisa... Ele ergueu-se e abraçou-a sem-vergonhamente.
- Que coisa "mais tão" linda Pupinha. Estava me lembrando do amante de Lady Chaterley quando ele contemplava isso.
Decorreu a mão pelas costas de Paula e parou-as afetuosamente nas nádegas.
- Baby, você não toma juízo. O que foi?
Sua voz já não tinha a mesma autoridade anterior. Sentia-se contente em ver-se desejada sempre.
- O que dizia o livro?
- Você não o leu?
- Li escondido no original, na íntegra, no colégio interno.
- Ele dizia, alisando isso que estou alisando: "sua bunda cabe um mundo".
- Está bem. O tal do rapaz era meio vulgarzinho, sem dúvida.
- Isso você acha, mas a danada da Lady Chaterley ficava soltando fumaças de prazer com qualquer coisa que ele dissesse.
Ela se controlou. Retirou as mãos dele de sobre o seu corpo.
- Se você não quiser conversar a coisa tão urgente que dizia ao telefone, vou ser obrigada a fazer uma "coisa" que não gostaria de fazer na sua frente.
- Pensa que eu ligo?
- Ah! Pois então lá vai.
Chegou-se até a porta e chamou Dambroise. Na porta semi-aberta, escondeu o corpo e falou para o mordomo:
- Dambroise, pode trazer o gelo.
Baby estava estupefato. Pensara uma coisa completamente ao contrário. Uma coisa que nunca imaginava se fazer com gelo.
Dambroise voltou com um pequeno prato de plástico onde as pedras brilhantes se chocavam.
Fechou a porta e divertiu-se ante o olhar espantado de Baby que voltara a sentar-se no bidê.
Pegou uma pedra e começou a alisar, massageando, um dos seios em sentido circular.
Parou um segundo e deu uma gargalhada.
- Era isso, seu bobo, que pensa você de mim? Recomeçou a massagem.
Ele estava meio desenxabido.
- Não sabia que você fazia isso, Paula.
- Aprendi com umas receitas de uma falecida atriz muito famosa: Jean Harlow. Montes de mulheres ainda se ajudam assim...
A sem-vergonhice veio assaltá-lo outra vez.
- Pôzinha, deixa eu fazer isso?
- Nunca.
- Por quê?
- Porque preciso acabar essa massagem.
- Juro que não passarei disso.
Não sabia resistir-lhe quando usava aquela voz tão doce, nem quando seus braços fortes enredavam-se na sua cintura, ainda mais se o seu hálito morno soprasse ao seu ouvido.
Deixou descair a mão e ele abraçando-a, começou a passar o gelo suavemente nos seus seios.
Passava e observava no espelho o endurecimento arrepiado que aquilo fazia na carne. O róseo carregado de que as rosetas iam se apossando.
- Tudo isso é do gelo mesmo?
Mal tinha vontade de responder que era.
Sentados a uma pequena mesa, Paula começou a sua refeição. Seu rosto liso, sem gama alguma de pintura tinha um frescor maravilhoso.
- Está boa essa comidinha de passarinho?
Paula parou o garfo no ar e fitou bem os olhos de Baby.
- Que tanta pressa você tinha e agora fica aí negaceando? Você tem mesmo alguma coisa para contar ou só queria me ver?
Ele sorriu meio desajeitado.
- Pare de ficar fazendo como um gatinho que se alisa na perna da gente e conte logo.
- Sabe o que é, Pupinha? É que eu recebi uma carta de um fantasma.
Meteu a mão no bolso e puxou um envelope subscritado.
- Posso ver?
- Daqui a pouco. Você se lembra que na minha adolescência eu tive um grande amor?
- Qual deles?
- Não, Paule, estou falando sério. Não brinque nessa hora. Pois bem, eu tinha um grande amor juvenil. Um a que a família toda fez uma oposição danada. Era o pai dela, o meu, os nossos irmãos...
- Sei sim. Uma tal de Sylvia.
- Pois bem. Depois que eu entrei para a Marinha Mercante ela se casou com um americano e foi para os Estados Unidos.
Entregou a carta a Paula. Paula ficou um momento indecisa e perdeu a noção da vaidade, tal era a sua curiosidade sobre a carta.
- Dambroise!...
O homem apareceu como por encanto.
- Por favor, Dambroise, veja se encontra meus óculos.
Baby riu. Aos poucos, e com a íntima convivência, Paula ia se deixando ver tal qual era; o que no princípio fora inadmissível.
Dambroise voltou e ela se preparou para ler a curta carta.
O semblante de Paula tomou um ar inquieto. Suas sobrancelhas se franziram um pouco também, demonstrando preocupação. Acabou a carta, dobrou-a e entregou-a ao rapaz.
- De maneira que essa moça está viúva. Encontra-se no Rio e vem a São Paulo para o ver... amigavelmente
- É o que diz a carta.
- Pupinha, você é quem decide. Eu poderia bem esconder tudo de você, mas não quero que existam segredos nem traições entre nós.
- Que foi que você disse? Eu não ouvi bem. Gostaria que repetisse devagar essa frase.
Baby encabulou de todo.
- Bem. Você sabe que eu só gosto mesmo de você, Pupinha.
Ela riu gostosamente. Mas em seguida tornou-se um pouco reservada. Seu instinto feminino estava de sobreaviso.
- Você quer vê-la?
- A moça fez um grande sacrifício para ver-me. Chegou mesmo a procurar minha mãe, minha família, sabendo de todo o antagonismo antigo, para pedir meu endereço.
- Que idade tinha quando ela e você...
- Eu dezenove e ela dezessete.
- E o tempo que faz tudo isso?
- O dobro da idade dela, mais ou menos.
Colou um cigarro na piteira comprida e esperou que ele o acendesse. Deu uma baforada para o alto e fitou acompanhando a dança da fumaça.
- Você quer vê-la, não? É natural.
- Mas não quero criar uma rusga entre nós por isso. Se você não quiser não a verei.
Paula pensava rapidamente. O ciúme, talvez ainda desnecessário, remordia-a um pouco. Se dissesse não, estaria demonstrando a falta de confiança entre ambos. E essa confiança com ligeirinhos escorregos, durava já seis anos e pouco. Se dissesse sim, poderia haver um longínquo perigo de uma antiga paixão juvenil, ser reacendida. Se negasse também a oportunidade ao rapaz, ele poderia ser acometido por uma daquelas tentações safadinhas que existem sempre escondidas num instinto de macho. Dizendo sim, poderia verificar toda a extensão, tirando mais uma prova do amor de Baby. Verdade é que a outra (no íntimo não gostou da classificação que fizera de: a outra)... Sylvia deveria ser muito mais moça que ela e isso, sobretudo isso, oferecia algum perigo. Decidiu-se.
- Bem. Vou deixar você ver essa moça. Nada há que o impeça de fazer. Mas imponho uma condição: tudo que se passar entre você e ela, terá que me ser relatado.
- Acho que não preciso jurar, mas juro que contarei tudo, tudo.
- Então vamos fazer o seguinte acordo para que tudo fique perfeito em nosso ritmo de vida: Domingo que vem é o Grande Prêmio, no Rio..Você nunca quis acompanhar-me nessas coisas. Eu poderia embarcar com uma antecedência de três dias e voltaria na terça-feira. Um espaço suficiente para vocês rememorarem o passado. Feito?
- Sem mágoa? Sem zanga? Sem nada?
- Hum-hum.
- Jura?
- Juro.
- Mas vamos fazer o seguinte: só responderei o telegrama amanhã. Até a hora do jantar você poderá mudar de idéia.
- Pirata! Você sabe que nunca mudo de idéia. Eu mesma já estou de certo modo curiosa, com o resultado dessa sua experiência. Mas uma coisa vai ficar bem clara: Eu não sou a mulher de... como é que se chamava mesmo o homem?
- Kanato.
- Pois eu não sou a mulher de Kanato, nem vou dividir você com ninguém, certo?
- No mínimo tudo não passará de uma velha amizade que se reencontra...
- Espero que sim. Agora venha cá.
Deu a volta à mesa e nem precisou ser convidado para abraçar Paula carinhosamente.
- Meu gato. Meu bebezinho traidor e sujo.
Começou a mordiscar-lhe a orelha do jeito que ela mais gostava. Depois cheirou-lhe os cabelos. Sugou-lhe o pescoço e estalou um beijo na face.
- Você quer ser um anjo, Baby?
- Quer que eu me vá, não? Tem que esperar a manicura, tem que ir experimentar o traje do Prêmio...
- Sim. Gosto de você porque nem me deixa pensar. Mas ele continuou agarrado nela.
- Pupinha. Eu gosto mesmo é de você. Só a morte tirará o meu amor por você. Gosto de você até no modo que segura a piteira.
Ele meteu a mão entre o decote do negligée e alisou os seios de Paula.
- Pare com isso, senão você não me deixa até a hora do jantar.
- Só queria ver uma coisa... se o gelo... Deu-lhe uma leve pancada na mão.
- Você não toma juízo, Baby.
Ele retirou-se até a porta, mas voltando de carreira, beijou Paula levemente na boca.
- Esqueci de dizer até logo e obrigado.
Passou o dia aborrecido. Não sabia o que fazer nem para onde ir. Chegou a entrar num cinema mas achou o filme terrivelmente enfadonho. Retirou-se antes de acabar a fita.
Foi procurar um bar e pediu um gin-tônica bem gelado. Estava preocupado com aquilo. Marcara encontro com Sylvia no bar do hotel onde ela se hospedara. Tinha vontade de não ir. A curiosidade a princípio tão aguçada ia falhando conforme se aproximavam as horas, deixando em seu lugar um sentimento de desengano. Punha-se a meditar a mesma coisa. Afinal depois de tantos anos... Não eram os mesmos. Possivelmente Sylvia o acharia velho, acabado. Não estava de todo apodrecido, mas também longe se perdia o tempo em que possuía as linhas apolíneas. Tinha começado já a se habituar com a inexorabilidade do tempo. Sua barriga já apresentava um dedo de gordura que fazia sempre força para destruí-la. Seu rosto se enrugara em volta dos olhos, não muito, mas o suficiente para comentar-se uma comparação com o passado. Sob o queixo a futura ameaça de uma papadinha deselegante... Tudo isso nele. E ela? Lembrava-se bem do seu corpinho esguio e elegante. Dos seios duros e pontudos. Do seu queixinho voluntarioso e as duas covinhas no rosto. O modo de caminhar torcendo a cabeça para a esquerda, quando vinha esperá-lo debaixo do pé de fícus-benjamim, na pracinha de Natal. E agora? Seria a mesma? Ou porventura não se tornara numa viúva gorda e suarenta?... Nem seria bom pensar, no desapontamento de ambos se defrontando e comparando o estrago da vida...
Por isso deixara para de noite. De noite, ou iriam jantar fora, ou procurariam um bar, uma boate onde a luz tivesse a caridade de ser discreta.
Bebeu uma grande talagada e ficou prestando atenção no movimento da rua que passava indiferente à sua mesa. Não obstante o esforço para distrair-se, o pensamento imantado retornava ao ponto incômodo.
Pagou a despesa e ficou caminhando a esmo, procurando se interessar pelas vitrinas. Mas a tarde custava a trazer a noite. Aceitou vários cafezinhos com muitos amigos que acidentalmente encontrava. Visitou duas galerias de pintura, mas ainda faltavam duas horas para as oito. Engraxou o sapato. Comprou um jornal e procurou a última página. A página que em casa, à noite, deixava para ler por fim. Era a que trazia os mais incríveis crimes. Gostava de crimes bem impressionantes, e quanto mais o fossem, mais sabor achava em lê-los.
De novo com o jornal embaixo do braço, caminhava na rua. Passou no Viaduto do Chá, devagar, desviando-se dos esbarros e observando o submundo, a lama da miséria, exibida ali, nos tabuleiros de bugigangas, na voz dos marreteiros, no esmolar febricitante de um verdadeiro Pátio dos Milagres.
Desceu a escadaria ao lado da Light. Atravessou o Anhangabaú e subiu as escadas rolantes da Galeria Prestes Maia. Arre, que o tempo afinal passara um pouco. Felizmente só faltava quarenta e cinco minutos. Era hora de arrumar-se.
Voltou à Rua Sete de Abril e foi subindo as escadas do bar dos Amigos da Arte Moderna, onde era sócio. Tomou um rápido drink. Foi até o banheiro, lavou o rosto e penteou-se. O danado do espelho ali era mais cheio de má vontade do que os outros. Seu rosto parecia inchado e balofo. Até um começo de calvície estava querendo denunciar. Enfim já que se arriscara àquele encontro, teria que comparecer. Daria um sorriso triste e conformado ao mesmo tempo que murmuraria:
- Isso aqui sou eu, Sylvia. Afinal não sou mais um adolescente e o tempo, minha amiga, passa igualmente para todos.
Encaminhou-se para o hotel. Aí o desânimo se apossou totalmente dele. Se ao menos Paula estivesse com ele para entusiasmá-lo... Riu do absurdo; estava tão acostumado a tudo fazer, apoiando-se em Paula que... Pupinha estaria no Rio em jantares alegres com as amizades. Indo a tudo quanto era boate, vendo todos os shows, assistindo tudo em matéria de teatro... Bolas, bolostrocas! Tinha era que pensar em Sylvia, Paula não era problema.
Resignou-se a tomar uma atitude frouxa e caminhou para o hotel. Antes olhou o relógio, na esperança de que ainda faltassem alguns minutos.
Forçou o medo e entrou no elevador pedindo o bar.
Entrou e antes mesmo que a vista se acostumasse ao ambiente penumbroso, um vulto saiu de uma mesa e veio a seu encontro.
- Gum!...
Abraçaram-se de um ímpeto. Seu coração teve um relaxamento feliz. Sylvia conservava-se quase como antigamente. Impressionantemente moça e bonita.
Separaram-se um pouco e ficaram encantados se contemplando. Depois ela tornou a abraçá-lo e encostou o seu rosto contra sua barba. Aquilo positivamente tornava-o sem defesa... mas era bastante bom.
- Quer ficar aqui mesmo?
- Não, honey, estou com uns conhecidos. Vou despedir-me e apanhar minha bolsa. Você me espera um pouco?
Sorriu fazendo com que as duas covinhas no rosto aparecessem. Era a mesma, exceto nos cabelos, que tinham adquirido uma cor avermelhada.
- Da mesa, estavam loucos para conhecer você, mas eu resolvi escondê-lo.
Falava um português engraçado com um ligeiro sotaque de inglês. Comentou aquilo.
- E você não sabe minha dificuldade no começo. Ainda bem que passei um mês em Natal, em casa de mamãe e reaprendi um pouco. Onde você me leva?
- Aonde gostaria de ir?
- Não sei. Não conheço São Paulo. A noite é sua, pois.
Pensou um pouco fazendo uma geografia de bares e restaurantes, na cabeça.
- Tem um bar de artistas que é muito gostoso. Todo artista tem 50% de desconto. A comida é de primeira e muito sossegado. Até, digamos, que não chegue meia-noite. Aí começa o término dos espetáculos e aparece um enxame de artistas.
- Vamos lá. Quando começar a zoada, a gente procura outro rumo.
- Feito. Táxi?
- É longe?
- Dez minutos.
- Então vamos a pé. Uma cidade nunca é conhecida se a gente ficar usando táxi. A noite está friinha e agradável para andarmos.
Tomaram a Rua São Luís, sem pressa alguma. Era como se caminhassem de novo entre as roseiras da mocidade, na Pracinha. Cada passo, um encantamento incontido. Sylvia apoiava-se no seu braço com a delicia da despreocupação. Pareciam não pertencer ao mundo onde passavam.
Atravessaram a Rua Consolação. Pegaram o Viaduto Maria Paula conversando coisinhas miúdas com a importância da desimportância. Subiram o calçamento estragado da Rua S. Antônio. Entraram na Rua Major Diogo. Mas nem se apercebiam do feio da rua, os buracos das calçadas, nem os ruidosos bondes que passavam estremecendo tudo.
- É ali. - Procuraram um lugar discreto. Sentaram-se. Veio o garçom.
- Primeiro vamos tomar um drink; quando der vontade, jantamos.
- Um drink? Então um gin-tônica. Gum deu uma risada.
- Eu ia pedir o mesmo. Adoro gin-tônica.
Ficaram se olhando. Era a primeira vez que se viam sentados. Sylvia estava vestida de negro, com um colar de pérolas e uns brincos discretos muito bem colocados.
- Você está ótima! Ela sorriu.
- Por que você riu?
- Pensava que você não mudou nada. Apenas se fez mais homem e mais bonito.
- Você teve muita sorte em me encontrar em São Paulo. Nesta época do ano faço uma temporada na selva. Até que estou meio atrasado.
Uma sombra de tristeza sombreou o rosto de Sylvia.
- Eu iria até a selva. Estava disposta a isso, caso não o encontrasse aqui. Eu precisava vê-lo de qualquer maneira. Tinha de encontrá-lo...
Os olhos de Sylvia ficaram cheios d'água.
- Que foi isso, agora?
Tirou um lencinho da bolsa e limpou os olhos.
- Ainda é cedo para falarmos disso.
Tentou sorrir mais forte afastando a tristeza que surgira tão inesperada.
- Foi a emoção de ver você.
O garçom apareceu com as bebidas e retirou-se.
- Podia sugerir uma coisa?
- Fale.
- Um de nós dois trocaria de lugar. Isto é. Nós nos sentaríamos juntos.
Deu a volta e sentou-se junto dela.
- Assim é melhor. Já nos separaram muito na vida...
Pensou um segundo em Paula. Deus do céu! Se Paula o visse com Sylvia reclinando-se, aconchegando-se contra ele. Oh! ingrato coração de todos os seres humanos! Pela primeira vez estava se lembrando de Paula. Desculpou-se tentando convencer o íntimo: também aquela ingrata me abandona num momento desses...
- A verdade, Gum, é que nunca esqueci você. Todos esses anos ficava às vezes horas perdidas nos meus pensamentos, imaginando como você estava e como poderia estar vivendo.
- Mas você não era feliz no seu casamento?
- Muito. Muitíssimo. Mas isso nada tinha que ver com o lar ou o matrimônio. Era o pedaço mais lindo da minha vida que eu guardava no mundo dos meus mais queridos segredos.
Aquele era o verdadeiro perigo de Sylvia: a naturalidade em dizer e fazer as coisas. Fora aquela mesma naturalidade que os prendera quando jovens e que agora ressuscitava de uma maneira impossível de se conter.
Poucas horas, apenas algumas horas e Gum não saberia se responsabilizar pelas fraquezas do coração. Iam-se evaporando como volutas de fumo toda a pseudodefesa que teria pretendido estabelecer.
- E você?
- Eu? Eu como?
Sabia ao que se referia, mas pretendia fugir ao assunto o quanto possível.
- Não tem ninguém? Não vá me dizer que um pedaço desses anda por aí abandonado?
Riscou seu braço com as unhas vermelhamente pintadas.
- Eu... eu me casei por etapas. Porque acho que na vida a gente nunca casa mesmo com o grande amor. Isso é raro. Está aí o seu caso.
- Tantos antagonismos que encontramos injustamente pela frente...
- É porque não tinha de ser.
- Talvez. E nessas etapas, existiu alguma mais duradoura?
Nunca falaria de Paula a Sylvia. Nunca. Mentiria calmo e consciente. Prometera falar de Sylvia para Paula e, apesar das graves conseqüências que poderiam advir, nada negaria para Paula.
- Talvez uma, um pouco mais. As outras tinham o caráter de aventura apenas. É difícil uma mulher admitir um artista in totum. Logo se cansam das suas extravagâncias. Nenhuma mulher suporta um homem que de repente dá na telha de passar meses seguidos vasculhando selva, fugindo, quase sempre fugindo.
- Seu sangue de índio nunca deixou de falar em você, não, honey?
- De todos os meus irmãos, acho que o único que se interessa por isso sou eu. Talvez por ser também o único que não tem tipo de índio...
Beberam e se contemplaram nos olhos.
- Você se lembra do muro da minha casa? De quantos buracos que tinha? E que eu ia esperar você que ia treinar para a regata com uma sunga indecente daquelas...
- Ainda hoje uso daquelas sungas, apesar de não ter a mesma elegância dentro delas, são supinamente cômodas.
- Não se lembra de mais nada, Gum?
- Dos buracos e dos...
- Pliquet-pliquet apressados.
- O medo que viesse gente, e, quando vinha, aquela conversa sem conversa que se inventava na hora...
- Agora crescemos. Temos o mundo na frente escancarado, sem necessidade de buracos. Seremos os mesmos?
- Se eu fosse um homem inteligente estaria vendo nisso um convite.
- Como você não quis entender, eu sou uma mulher mais prática. Levou os lábios contra os seus molhadamente, ainda frios da bebida que tomara.
- Gum, toda minha vida eu esperei por esse momento. Fiz mal?
- Não. Poderia ter feito melhor, mas vou remediar essa falha. Puxou a moça para mais perto e deu-lhe um beijo mordido e saboroso.
- Pelo menos fomos bastante naturais.
Ficaram um grande momento abraçados. Sylvia apoiando o rosto e os cabelos sobre sua face. Sem nada dizer; como se quisessem recuperar tantos anos inutilizados pelos outros. Pairavam entre três sensações diversas: a ternura, a indiferença pelo resto da humanidade e uma atração que continuava depois de tantos anos interrompida.
- Quando você retorna ao Rio?
- Tanta pressa assim, honey?
- Ao contrário: preocupação desde já com a sua ausência.
- Dentro de três dias. De lá, esperarei uma carta sua ou um telefonema.
Três dias! As duas estavam jogando o mesmo tempo dentro do mesmo jogo. Precisaria não pensar em Paula e aproveitar o tempo que ela lhe presenteara. Estranhos os meandros do coração. Longe a idéia de perder Paula nem trocá-la por Sylvia. Mas também sentia-se meio desolado se naquele momento Sylvia partisse.
- Queria lhe perguntar uma coisa, "bichinho".
Até aquela palavra de meiguice com que a tratava na adolescência voltara naturalmente.
- E por que não?
- Sobre a morte do seu marido.
Ela fez uma pausa plena de melancolia e demorou-se na resposta. Não poderia perguntar verdadeiramente porque não o esperara mais. Mas perguntar por que? Se o tempo já respondera e agira. E mesmo, nunca teria voltado naquela época para Sylvia, porque a crueldade da vida o empurrara sempre para um lugar mais longe.
- Quer saber mesmo? Pois bem. Quando ele morreu fiquei desorientada. Senti-me sozinha. Eram muitos anos de convívio e daquela compreensão que estabiliza o casamento. Sua morte foi uma coisa verdadeiramente imprevista. Nem quero falar sobre isso. Nós nos entendíamos maravilhosamente bem.
Engoliu um pouco de emoção e continuou:
- Não me casei verdadeiramente por amor. Mas a continuidade da compreensão no casamento talvez seja mais efetiva que o próprio amor. Tudo veio com uma violência desnorteadora: um belo dia, um toque de silêncio, um corpo descendo à terra e uma bandeira americana entre os meus braços vazios... Ele era oficial do Exército Americano. E nós nos casamos durante a guerra... Foi tudo.
Não tinha mais jeito de perguntar alguma coisa. Se mais houvesse a contar, Sylvia o teria feito. Inútil provocar as cinzas das coisas mortas da vida.
- Gostaria de voltar ao hotel.
- Fiz mal em perguntar?
- Não. Não se trata disso. É que estou cansada e a emoção de encontrá-lo após tantos anos, rebentou com os meus nervos.
Levantou o braço para olhar as horas. Mas a mão de Sylvia tapou o relógio e seus olhos se marejaram.
- Nunca me diga as horas. Nunca me fale do tempo, por amor de Deus.
Apanhou o lenço na bolsa e limpou os olhos. Depois ficou em atitude taciturna, esperando que Baby pagasse a conta.
Lá fora sentiram o vento da noite que trazia o frio.
O porteiro perguntou se precisavam de táxi, mas Sylvia insistiu em andar a pé.
Só depois de muito caminharem, ela recuperou-se um pouco.
- Honey!
- Que foi, bichinho?
- Como vai de finanças?
- Realmente bem.
- Pode usar de franqueza comigo. Você sabe...
- Já não basta o tempo em que você pagava chocolate pra mim, no Cinema Royal?
Riram-se da topada na ternura.
- Não. Francamente as coisas melhoraram muito. No começo da minha insignificante carreira, as coisas iam mal. Agora não.
Apesar da tristeza dos últimos momentos, o demoninho da sensualidade deu um borrifo ao seu ouvido.
- Quer ir logo para o hotel?
Ela sorriu.
- Hoje quero ir para o hotel; amanhã...
- Que tem amanhã?
- Amanhã será um novo dia... Precisamos combinar qualquer coisa para amanhã.
Nunca Paula aparecera tão deslumbrante depois de uma viagem ao Rio. Suas faces tinham adquirido um tom sazonado maravilhoso. E o que doía em Baby era a indiferença com que demonstrava tudo.
- Sim. Fomos à praia em grupo. Fizemos um pouco de iatismo. O sol do Rio, principiando a esfriar por causa do inverno, estava uma delícia.
Sentou-se no sofá e acendeu um cigarro, como só ela sabia fazer. Vomitando elegância nos menores detalhes. Depois de uma longa tragada e em conseqüência a provocação de uma nuvem de fumo, foi que ela olhou Baby à sua frente. Ela estava magoada e temerosa, por isso se resguardava naquela atitude feminina de defesa e segurança.
Não deixou de estremecer Intimamente ao fixar o rosto do rapaz. Alguma coisa de muito grave estava acontecendo com ele. Emagrecera bastante. Bastante demais para três dias. O incômodo era a expressão de seu rosto triste.
- Puxa, Pô. Você passa tantos dias longe e quando chega, entra na sala e nem sequer me dá um beijo de boas-vindas.
- É verdade. É verdade. Até que tinha me esquecido.
Num gesto de sofisticação estendeu-lhe a mão para que a beijasse.
- Sente-se ali para conversarmos. Obedeceu presto.
- Então, meu rapaz?
Mas em vez de começar a falar, ele olhou Paula tão desesperado que as lágrimas começaram a deslizar sobre o seu rosto. Paula comoveu-se e quebrou um pouco a crosta de gelo que a envolvia.
- Que é isso, Baby?
Ele jogou-se do sofá. Sentou-se perto de Paula e escondeu a cabeça soluçante sobre o seu colo. Ela passou as mãos de leve sobre os seus cabelos. Mesmo sentindo-se "doer" cedeu vaza à sua indulgência.
- Assim, vai mal, Baby. Vamos conte tudo para a sua Pupinha. Deixou-se uns minutos a afagar a cabeça de Baby até que a confiança nele retornasse e pudesse desabafar a sua confissão.
- Pô... Você precisa saber toda a verdade. Uma aguilhoada atacou sua alma.
- Toda. Você disse que nunca me mentiu e não será agora...
- Para duas pessoas eu nunca menti e sempre confessei as minhas faltas: você e Deus.
Ergueu os olhos súplices, implorando o máximo de compreensão da mulher. E ela por sua vez vestiu-se de coragem para enfrentar a luta que parecia existir agora.
- Ela veio. Nós nos encontramos todos esses dias e todas essas noites. Ainda é uma bela mulher. Quando nos vimos foi como se... nem sei explicar, Paula. Juro que não queria que isso acontecesse. Em um segundo renasceu tudo que sentíamos quando éramos jovens. Fomos acometidos ao mesmo tempo e violentamente por um amor atrasado...
Paula estava pensativa.
- Nem tivemos tempo de evitar o que aconteceu: estávamos perdidos numa voragem avassaladora.
- Que espécie de mulher é essa mulher?
- Não é nada extraordinária como você está pensando. Sem querer fazer a menor comparação. Não é uma mulher como você em todo o sentido de realização.
- Você falou-lhe a meu respeito?
- Por que, Pupinha? Nós somos um mundo à parte ao mundo em que vivemos. Nós sempre nos guardamos um para o outro, não foi? Ela me perguntou discretamente se havia uma mulher ou várias em minha vida, menti discretamente que tinha havido várias. O assunto passado por longe e de uma maneira vaga...
- Não houve um modo de fugir dessa atração, querido?
- Quando fui, pensei que poderia haver. Mas quando nos vimos, parecia que estávamos na adolescência, cheios de ilusões e encantamento. Estávamos realizando tudo que o mesquinho mundo moço e nosso não permitiu. Você entende, Pupinha? Tenho que falar tudo a você...
- Em resumo, vocês?...
- Sim, dormimos juntos em meu apartamento.
- Você falou em "meu" apartamento.
- Não poderia nunca ter dito "nosso", Paula. Porque assim daria a impressão ao meu coração que eu estava traindo você de propósito.
Ela riu da pureza do argumento. Apesar de tudo, ele tinha um modo todo especial de contar as coisas, deixando de magoar o menos possível.
- Então você dorme dias e dias com outra mulher e diz que não está me traindo ou me traiu?
- Digo que sim. Ninguém pode acreditar nisso, mas não estou mentindo, Paule, Paule. Nós estávamos nos casando com os nossos sonhos desfeitos que a vida nos entregou agora. Foi o nosso casamento, foi a continuação de nossos anseios, antes que a maldade da vida se entornasse sobre nós tão abruptamente.
Paula foi tomada de um arranco de ternura. Segurou os olhos de Baby bem junto aos seus.
- Se não fosse comigo tudo isso, eu estaria achando esta história até engraçada.
- Mas não é nada engraçada quando você souber do resto.
De novo a sinceridade fez com que seus olhos se molhassem de novo.
- Então, querido, a coisa parece tão grave assim!...
Um temor arranhou a alma de Paula. Depois daquilo estava certa de que haveria mais luta. E o medo de perdê-lo fez com que arregaçasse as mangas da cautela.
- Que de horrível aconteceu entre vocês dois, meu bebezinho? Ele aconchegou o rosto soluçante ao colo de Paula e com uma das
mãos ficou alisando sua coxa mansamente.
- Pô, ela tinha de vir me ver. Tinha de vir me ver. Você compreende?
Falava dando arrancos como se a confissão que ia fazer lhe doesse de uma maneira brutal.
Paula acreditava na sua sinceridade. Baby nunca fora homem para fingir teatro ou falsificar tragédias. A coisa deveria ser terrivelmente grave.
- Faz três dias que não posso dormir e quando o consigo é para ter pesadelos fúnebres. Nem me alimentar eu consigo mais, Pô...
Pegou nas mãos da moça e encostou na sua boca como se implorasse perdão pela brutalidade do que ia confessar.
- Pô, ela tinha de me ver. Ela está se despedindo. Iria até o fim do mundo para tanto. Ela está morrendo, Pô. Ela está condenada.
Paula esqueceu-se dos próprios sentimentos e foi tomada de pavor.
- Verdade, querido? Tudo isso é verdade, meu querido?
- Tudo, Pô. Ela está condenada. Não sabe quanto tempo poderá viver. Seis meses, um ano... Só Deus sabe. Está com câncer.
Paula sentiu uma grande pena. Afinal era uma mulher muito moça para morrer de um jeito tão estúpido e trágico.
- Parece que essa doença me persegue, Pupinha. Eu tenho horror a ela. Desde menino quando vi minha avó, jurei que nunca mais veria ninguém morrer de câncer. Parece castigo.
- Querido, a notícia que você me deu é tão triste e cruel, que me desmorono. Nem sei o que dizer. Espere aí: vamos tomar uma dose forte de conhaque para criar ânimo. Seja o que for, estou arrasada.
Serviram-se da bebida e ficaram em silêncio sem saber que decisão tomar. Foi preciso a coragem aparecer em Paula para que dissessem alguma coisa, era melhor tocar de uma vez naquele assunto espinhoso do que ficar protelando a vida inteira.
- Ela ainda está aqui?
- Voltou para o Rio.
- E o que vocês resolveram?
- Tudo depende de você. Isto para minha pessoa. Você se lembra que sempre desejei que você fizesse uma viagem na selva comigo? Pois ela quer fazer...
- Não seria uma temeridade com essa doença?
- Na certa. Mas quem vai morrer quer viver intensamente.
- Quanto tempo?
- Dois meses.
Paula pensava demoradamente. Não queria, por nada na vida, perder Baby. Estava começando a compreender agora o problema daquela índia que ele contara. Somente os seus motivos eram mais trágicos e duros que os dela. Era pior lutar contra um câncer do que contra a velhice. Se bem que a velhice fosse também proliferação de tristezas e desencantos.
Não desejava que a mulher morresse para que tivesse de novo o homem em seus braços. Não desejava a morte de ninguém e muito menos com aquela doença pavorosa. Mas também não queria ficar sem ele. Era humano entender-se isso.
Deu um sorriso de tristeza e comentou:
- A gente acaba pagando aquilo que a língua fala. Nunca pensei que precisasse dividir você com outra.
- Se você quiser, abandonarei Sylvia para sempre.
- Seria uma monstruosidade, depois de tudo que me contou.
- E o que poderemos fazer então, Pô?
- Uma coisa é evidente. Vou dar um comprimido a você, e você vai dormir. Terei de sair daqui a pouco e de noite, no jantar, conversaremos com mais calma e decisão. Certo?
Ajudou-o a deitar-se como uma criancinha sem proteção. Aconchegou-o na sua própria cama. Deu-lhe o remédio e esperou que fizesse efeito; estava tão abatido o moço, tão exausto, como nunca o vira. Talvez pelo esforço e tristeza de contar-lhe o acontecido, o remédio foi fazendo efeito rapidamente.
Paula contemplou o rosto bem-amado e saiu do quarto sem fazer barulho. Antes, porém, puxou as cortinas vestindo o ambiente de profunda sombra para que ele descansasse bem as angústias do coração.
No quarto de vestir começou a arrumar-se para sair. Abriu os grandes armários atulhados de roupa e parecia não encontrar nenhuma toalete que condissesse com o desaponto amargo que lhe ia na alma.
Numa hora dessas procuraria Gema para aconselhar-se, como sempre fazia nas horas críticas da vida...
Estavam deitados na praia, esperando o amanhecer. O frio terrível, mais ainda porque a beira do rio se encontrava sempre ao desabrigo, soprada pelo vento contínuo da noite.
Tirou a mão de dentro do colchão e afrouxou o cobertor. Aquilo ali, referia-se sempre ao saco de campanha, era a melhor invenção para a selva. Não havia frio que o transpusesse. Com os dedos tocou a areia gelada da praia. Era melhor esperar que o sol subisse mais e viesse dar uma mãozinha de calor para que resolvesse levantar-se.
Olho para o lado e Sylvia dormia afundando-se tão fortemente no colchão que a cabeça quase que sumia, deixando de fora uma amostra avermelhada de seus cabelos.
Examinou também com os olhos a fogueira apagada que morrera com o orvalho da manhã. O dia, como todos os dias da selva naquela época do ano, prometia ser de intenso calor.
Melhor seria mesmo esperar o sol para aquecer-se e criar coragem de fazer café. Mesmo porque tempo era uma coisa sem importância. Tinham vindo baseados naquela condição. Uma viagem de vagabundo. Um nomadismo absoluto. Ninguém teria pressa de nada. Onde encontrassem um lugar agradável ficariam acampados o tempo que desejassem.
Portanto colocou as mãos sob a cabeça e ficou espiando as nuvens rolando no céu, os pássaros flutuando nas correntezas do vento e as aves pescadoras vindo para a praia, procurando os pontos rasos do rio, para fazerem o seu marisco.
Já há um mês que desciam um rio. O rio, o velho amigo Araguaia, companheiro de lutas e de sonhos.
Tinham seguido o roteiro menos custoso para até ali chegar. Foram até Goiânia e de lá até Aruanã, à margem do rio. Demoraram uns dias em preparativos. Adquiriram uma boa ubá e lentamente, para que as remadas do tempo não contassem, principiaram a descida. Quando chegassem ao Bananal, esperariam uma condução da FAB para o Xingu. Ficariam por lá uma curta temporada e então a viagem de volta.
Um mês. Exatamente um mês que Paula também partira. Paula Toujours. Paula do amor absoluto e realizado.
- Não quer que eu vá ao aeroporto?
Ela calçava as luvas com aquele charme todo seu.
- Não, Baby. Preciso ir me acostumando com a sua ausência desde já.
Tentou tomá-la nos braços, mas Paula o afastou convincentemente.
- Também isso não, Baby. Tenho que me conformar em ficar sem você de todos os jeitos.
Colocou um pequeno chapéu sobre a cabeça e com a ponta dos dedos, derreou um veuzinho escuro sobre os olhos.
- Pode ser, Baby, que a sua selva seja realmente uma maravilha, mas a primavera em Paris é uma beleza e espero que me ajude um pouco. Quanto ao resto, - dizia aquele resto num sublinhamento intencional - espero que tudo corra bem. Meu endereço em Paus você sabe.
Fez um carinho no rosto abatido e desolado de Baby.
- As malas já estão no carro e o chofer me espera. Sorriu numa indiferença estudada, de matar.
- Ciao, meu querido. Fazia um mês. Um mês...
- Quanto quer pelos pensamentos? Sylvia tinha acordado e sorria para ele.
- Não valiam grande coisa. Estava pensando quem seria o chefe do Serviço de Proteção aos Índios no Bananal.
- Isso não é problema. O Bananal ainda está uma porção de dias longe, não está?
- Está.
Sylvia sorriu com as suas duas covinhas cativantes.
- Ainda zangado, Gum?
- Verdadeiramente, gostaria que você não repetisse o que me disse ontem à noite. É a segunda vez que você faz isso. E torna-se desagradável escutar...
- Ora, Gum, ontem nós estávamos alegres. Talvez tenhamos abusado um pouco da pinguinha... Que foi que disse demais?
- O ódio com que se referiu a meu pai, foi desumano. Aquilo não se pensa só quando se está bêbada...
- Você zangou-se porque eu disse que queria que ele ardesse nas brasas do inferno pelo mal que nos causou?...
O rosto de Sylvia estava congestionado.
- Não é você que gosta da verdade e da franqueza? Pois bem, deixarei de dizer isso. Mas fique certo que é o que eu sinto. Sinto com toda a gana da minha alma. Não é porque ele era seu pai, que esquecerei a crueldade com que me tratou. Eu era uma mocinha e ele e toda a sua família católica me trataram como se eu fosse uma puta... Essa é a verdade.
- Tenha ou não tenha razão, Sylvia, era meu pai, eu o adorava. Ele já morreu.
- Morreu e que se dane! Cansei de ouvir da sua boca: porque as pessoas morrem, não têm o direito de ser santificadas...
Ergueu-se e deixou o saco desarrumado sobre a areia. Foi sentar-se longe, na beira da praia já tocada pelo sol amigo. Enfiou os pés na água fria e esperou a atração que aquilo produziria nos esfaimados e desavergonhados miguelinhos. Em cardumezinhos, eles vieram nadar em volta dos pés para beliscá-los. O frio da água acalmou um pouco a irritação da discussão. Detestava aqueles atritos estéreis e domésticos. Podia então aperceber-se claramente da diferença que Paula usava para crescer e preservar o encantamento de tudo. Até nas separações momentâneas, diferente daquela que acontecia agora, Paula sabia dosar o renascimento e cimentação do amor e amizade.
Sentiu-se tocado pelo espanto, mas foi tão grande a descoberta que retirou os pés assustado da água do rio. A presença de Paula estava continuamente voltando ao seu pensamento. Fugira daquilo tentando esquecê-la. Procurara sempre não deter em si, qualquer coisa que significasse Paula. Mas Paula Toujours retornava a ele de uma maneira surpreendente. Isso significava... Isso significava... que...
Engoliu em seco e levou as mãos aos cabelos, gesto de defesa que o acompanhava desde menino.
O enlevo por Sylvia, estava começando a passar; era a verdade sem distorção. Tinham se encontrado muito tarde. A vida, melhor dito, os reunira de novo com um tremendo atraso. O mais importante do amor, sem dúvida era o sexo. Não estava descobrindo nada. Mas tão importante como o amor, era a cama. A cama espiritual para suportar a imensa importância do amor. Um dependia do outro. E Paula sabia disso melhor do que ninguém.
No começo, o fascínio, a loucura, o desejo. O desejo de esborrachar as malhas da frustração passada. Era um corpo envenenado de mocidade contrariada contra outro corpo readquirido de volúpia não desenvolvida na adolescência... Era um choque bárbaro de duas vontades se devorando ao mesmo tempo com a mesma intensidade. Por isso as noites e os dias eram somente de posse, posse e mais posse. Nos momentos de pausa olhavam-se nos olhos, fatigados, mas ainda desejosos.
- Honey, estamos ambos com olhos acusativos de bed room. O que nós, os americanos, chamamos de bedroom eyes.
Olhavam os corpos nus diante do espelho.
- É verdade, querida.
Mas os braços em volta da cintura. A boca sugando o pescoço, enquanto as narinas devoravam o cheiro dos cabelos. As mãos percorrendo os deliciosos seios arredondados, onde a grande roseta tomava um tom dourado fascinante. As nádegas comprimidas sobre o seu corpo. E o espelho novamente refletia os olhos com as olheiras, mas esqueciam-se facilmente disso.
- Precisamos sair um pouco, honey.
- Precisamos sim. Daqui a pouco.
- É verdade. Daqui a pouco.
Todos os anos perdidos tinham que ser recuperados na vertigem de poucos dias. A vida era isso. A vida dela era isso. Precisava fugir da sua condenação e usar-se o mais possível, mesmo que para tanto abreviasse o tempo de viver que lhe estava reservado.
As praias maravilhosas. As noites maravilhosas. As águas do rio maravilhosas...
Maravilhoso era o sol. Maravilhoso era o vento que empurrava para longe os enxames de mosquitos. Maravilhoso era o pôr-do-sol que oferecia cada entardecer, um mais bonito do que o outro.
Entre as coisas boas surgiam, mais aproximadamente uma das outras, as rusgas.
Estavam excessivamente estragados para se admitirem e se compreenderem completamente. Ambos tinham sido apodrecidos pela vida, habituados a um "gatéismo" exagerado que os tornava parecidos: temperamentos iguais se chocando e entrechocando no desespero da igualdade.
Irritante aquela mania de achar que tudo que era americano parecia melhor e mais eficiente...
Talvez aquela viagem prolongada demais... Talvez a solidão da selva que produz a febre da impaciência... Talvez as bebidas que Sylvia sempre adquiria nos povoados e de que abusava um pouco durante a noite... Talvez também aquela forma de lua-de-mel acobertada num amor prisioneiro; um amor que tinha um limite para tudo; um amor simplesmente familiar, sem audácias, sem variantes, sem extremos de intimidade proporcionasse aos poucos uma selva chata e sensaborona.
No Bananal Sylvia tornou-se louca de alegria. Descobria pela primeira vez na vida um elemento novo: o índio. Parecia uma colegial em férias ou uma criança em volta de uma árvore nojenta de Natal.
Quis deixar-se fotografar de todos os jeitos em companhia de cada um.
- No Xingu, você vai gostar ainda mais.
- Por quê, Gum?
- Lá os índios andam completamente sem nada.
- Exibindo tudo?
Fez um gesto com a mão para confirmar sua curiosidade.
- Tudo.
Ela enlaçou-se feliz no pescoço do rapaz.
- Oh, Gum! Você promete que tira retrato junto deles?
- Prometo. Por quê?
- Porque minhas amigas em Nova Iorque pediram que eu tirasse retratos junto de índios que tivessem a coisa bem...
Riu-se.
- Isso é mesmo de americana.
Depois ficou perplexo.
- Mas como suas amigas iam saber que você apareceria no Xingu e outras partes da selva?
Sylvia descontrolou um pouco e respondeu meio arrevesada:
- Minhas irmãs sempre me forneceram noticias da sua vida e das suas excursões pela jungle.
Então ela calculara tudo. Tudo. E o pior é que tudo calculado se realizava certamente tal qual imaginara.
Pescavam na praia. Propriamente só ele pescava. Retirava piranhas vorazes que eram eliminadas antes de sair do anzol, com pontadas de faca no cérebro para que perdessem mesmo fora das águas, a extrema voracidade das mandíbulas.
Sylvia olhava espantada e se arrepiava com os bufos que o peixe carnívoro soltava, pulando enraivecido na areia.
- Você come isso?
- Só em último caso.
- Então, por que as pesca tanto?
- Para as viúvas e mulheres sem parentes que cacem ou pesquem para elas: Só como piranha em último caso, precisando.
Sylvia estava deitada na praia tomando banho de sol. Seu corpo com as longas exposições ao sol adquirira um moreno dourado alucinante.
Sobretudo os seios que tinham criado um mais bonito ressurgir por causa do abronzeamento. As linhas das coxas eram duas perfeições queimadas e muito bem proporcionadas.
- Que é que está olhando, Gum?
- Nada.
Ela sorriu e dançou o corpo queimado sobre a toalha verde-claro que cobria a areia. Ajoelhou-se perto dela cobiçoso do seu corpo.
- E a pesca para as suas índias pobres?
- Tem tempo.
Sylvia enlaçou o seu pescoço puxando-o para si. Perguntou ao seu ouvido aquilo que gostaria sempre de ouvir e que quase sempre era respondido:
- Você gosta de mim?
- Claro, meu bem. Você é uma mulher maravilhosa. Depois saiu preguiçoso do corpo dela e mergulhou no rio. Sylvia preocupou-se e gritou:
- As piranhas, Gum!
- São piranhas batidas, são mansas. Não atacam, fogem com o barulho que fazemos.
De dentro dágua continuou mirando a maravilhosa conformação do corpo de Sylvia e sentiu intrigado que a primeira sombra da dúvida, pelo menos a primeira que conseguia varar as teias de sua discrição, colocava uma pergunta cruel e cheia de venenos: será que aquela mulher está realmente doente? Será que ela não...
Mergulhou para esconder os olhos daquele corpo que parecia tão sadio e vivo, esquentando-se voluptuoso e ao mesmo tempo satisfeito, à luz macia do sol.
O avião descia em círculos por sobre a clareira. E logo depois a pista vermelha aparecia embaixo.
- Aqui começa o que chamamos de Xingu. Posto de posição avançada. Você vai se divertir muito.
Mal o avião tocou o solo, voltou para junto da trilha que levava ao Posto; e nem bem parou os motores, a indiada nua acorreu para ver quem chegava.
Sylvia arregalava os olhos de espanto. Ficou grudada à janelinha do Beech espiando o mundo diferente que encontrava: meses antes estava dentro do burburinho de Nova Iorque e agora parecia ter caído no mais exótico e primitivo rincão da terra.
- Que é aquilo, Gum?
Apontava um grupo de índios queimadíssimos, quase atingindo ao negro, que ostentavam batoques nos lábios.
- São os amigos txucarramães. Parentes dos índios Caiapós. Aquilo no beiço é batoque, enfeite quanto maior, mais bonito.
- Eu não quero descer aqui, Gum. Vamos voltar? Estava realmente amedrontada.
- Bobagem. Aqui no Posto, eles são uns verdadeiros doces. Você vai ver.
Abraçaram Gum efusivamente cheios de alegria. Perguntaram-lhe quem era a mulher e ele explicou. Então tomados de grande ternura porque era a primeira vez que o amigo trazia sua mulher, cercaram Sylvia de simpatia. As mulheres pegaram em sua mão e ante o pavor dela, puxaram-lhe para o caminho do Posto.
- Help, Gum!
- Estou indo atrás, querida. Não há perigo algum. Eles estão adorando você, sabendo que é minha mulher. Agüente o galho!
A procissão aumentava em proporção que a notícia se espalhava, e vinha mais gente para perto para observar a mulher.
Não havia nem Orlando nem Cláudio no Posto: Quem tomava conta era um pretinho amigo e velho trabalhador dali, o Manuel Jorge.
- Foi bom mesmo que o senhor viesse. A farmácia está sem ninguém. Aqui só existe, de gente civilizada, eu, o índio Xerente que o senhor conhece, o Firmino, è o negão Quilomo. Só. Seu Orlando e seu Cláudio se embrenharam lá prás bandas do Rio Batovi, atrás de uns rasto de índio brabo Ticão.
- Vão demorar?
- Pelo jeito que saíro, acho que sim senhor.
- E a farmácia, o que precisa?
- Só de gente como o senhor que intenda. Tem que fazer uma puxada até a aldeia dos Meinaco, dos Uaiti e dos Camaiurá. Tem gente caída lá que nem bêia.
- Vamos lá, amanhã.
- De vera o senhor nem num chegô e eu já tô dando trabaiêra.
- Estou aqui pra isso: E a bóia?
- Ruim que nem sempre. Carne que é bonito não tem. Açúcar que é bonito, também não.
- A cantiga de sempre, não? Mas eu trouxe umas latarias para colorir a pobreza.
Pensou uma coisa.
- Mane Jorge, me diga: tem um cafezinho para a tripulação?
- Só se eles num se incomoda de fazê a mistura com uns triscos de rapadura.
- Acho que não.
Meia hora depois Sylvia ainda assustada, se bem que menos, espiava o ambiente sempre cercada de índios. Estavam curiosos para ver a mulher de Abó.
O ronco do avião anunciava sua partida. Sylvia ficou subitamente pálida, porque sabia-se prisioneira, pelo menos uma semana, naquelas brenhas.
- Fique ao natural querida. O Xingu é isso. Tudo isso que você está evidenciando. Nada de mais. Quando quiser tomar banho no rio, fique nua como elas. Não ponha maiô, senão eles pensam que você é diferente e quer esconder alguma coisa. Vão querer descobrir e enfiar as mãos dentro para se certificarem...
Uma semana depois, todo o medo desaparecera dela. Era até de se admirar a rapidez com que se adaptara ao ambiente. Ficara íntima dos beiçudos txucarramães. Aprendia cantigas com eles. Ensinava-lhes cançonetas em inglês, o que não deixava de ser muito pitoresco e anacrônico. Banhava-se no Rio Tuatuari em roupa, no meio das índias e se divertia bastante. Mas passados os primeiros dias de encantamento e diversão, começou a notar a ausência de Gum, que saía pela madrugada e voltava cansadíssimo, cheio de carrapatos. Estava visitando as aldeias e tratando de índios doentes.
O Xingu era bonito, mas não tinha a alegria do esfuziante Araguaia. E a primeira nódoa do tédio devagarzinho começava a brotar.
Terceiro Capítulo - Naquela Parte da Selva
DEPOIS de ter feito tanta camaradagem com todos os índios, depois de brincar e cantar, ensinar canções em inglês, Sylvia foi começando a demonstrar que a monotonia a enfarava.
Principiou dando pequenos passeios sozinha por perto do acampamento. Fora-lhe pedido que não se afastasse muito ou, quando o fizesse, sempre se deixasse acompanhar por um índio de confiança. A mulher de Abó, como a tratavam, tinha caído no gosto de todos e ao mesmo tempo todos queriam servi-la com prazer. Olhava o que fazia o rapaz e vendo-o ocupado, esperava pacientemente que acabasse a sua tarefa. Não deixava de reclamar:
- Honey, você não me liga muito. Em plena lua-de-mel nossa e você me troca por qualquer índio.
- Querida. Não é bem isso. Não tem ninguém no Posto que entenda bem de farmácia e não custa dar uma mãozinha aos doentes. Pronto, estou livre agora.
Passava os braços em volta da sua cintura e cheirava-lhe os cabelos com prazer.
- Onde você quer passear? Está se sentindo meio abandonada, depois que os txucarramães foram embora?
- Que esquisito, não Gum?
- O que foi?
- Eles. Mostraram-se tão amigos, tão simpáticos e foram embora de madrugada sem sequer dizer adeus.
- São como a chuva e o vento. Fazem parte da selva. Chegam quando querem e partem do mesmo jeito. Coisa de índio mesmo. Nem todos são assim mas na realidade quase todos o são. O que você quer fazer?
Soltou-se dos seus braços.
- Dar um passeio pela selva. O dia está quente demais e dentro da mata deve haver muita sombra e muito frescor.
- Iremos, mas não vá depois reclamar carrapatos e mosquitos.
- Pronto! Lá vem você estragar o prazer da gente. Sylvia era cheia de briguinhas miúdas e constantes amuos.
- Apanharei a arma e iremos ver selva à vontade.
Voltou com a carabina e a camisa para resguardar-se dos carapanãs do mato fechado.
- Pronto. Aonde vamos?
Ela apontou a direção de sudeste. Uma vaga contrariedade apareceu no rosto do rapaz.
- Que -foi agora?
- Nada.
- Você fez uma cara!
- Não ligue, vamos.
Caminharam lado a lado em silêncio. Ia pensando: "Talvez ela não queria ir "exatamente" para lá. Ela não terá descoberto sozinha aquela parte da selva?"
Atravessaram o campo de aviação e o silêncio permanecia entre os dois.
- Que é isso, Gum?
- Isso o que, meu bem?
- Parece que você não sente prazer em passear comigo. Está começando a se cansar de mim?
- Que bobagem, Sylvia. Estou um pouco cansado porque dei um duro danado, botando ordem na farmácia; você viu quanta gente apareceu?
- É.
Tornaram-se mudos de novo, mas Sylvia não esperou muito tempo.
- Por que você não está querendo ir aonde mostrei?
- Tem uma parte na selva que me recorda coisas tristes. Não gostaria de voltar lá.
- Tinha certeza disso. Basta eu querer uma coisa para logo você resolver a querer o contrário.
Aquelas discussõezinhas estéreis de fato cansavam. Sem querer voltava a pensar em Paula: Paula tão livre daquelas coisas mesquinhas. A doida adorada deveria estar, como ela mesmo dizia, se esbaldando em Paris. Uma pontinha de ciúme longínquo, longínquo, bateu em seu coração. E se ela para se vingar, fizesse agora o que estava fazendo há quase dois meses? Não. Ela não faria isso assim tão gratuitamente. Sorriu.
- Por que está sorrindo agora?
- Honey, se eu fico sério você fala, se sorrio você briga: assim não pode ser.
Emburraram-se e caminharam lado a lado, cada um espiando a vida a seu modo. Sylvia seguia justamente para a direção que não desejava. Penetraram num descampado onde o capinzal crescia amarelecento. Depois atravessaram uma mata irregular de mangabeiras. Súbito estacaram na porta da grande selva.
- Como você descobriu tudo isso?
- Vim aqui ontem sozinha.
- Você está louca. Aqui é perigoso. Muitas vezes já achamos no interior dessa mata, vestígios de fogo feito por índio não pacificado que veio observar o acampamento durante a noite. Mesmo é perigoso. Muito cachorro já sumiu nessa mata arrastado por onças.
O azedume de Sylvia não parecia compreender a advertência.
- Pois vim sozinha. Que queria que fizesse enquanto você andava longe pelas aldeias? Que apodrecesse de dormir na rede ou que morresse de tédio espiando o rio?
De certo modo a moça tinha razão. Mas se não podia se furtar a uma coisa que fizera a vida inteira, também não podia carregá-la por caminhadas extensas, atravessando capinzais ainda cheios da lama das últimas águas, varar selvas espinhosas, ficar sem beber às vezes horas e horas.
- Foi por isso que esperei você chegar para penetrar aqui. Quero conhecer esse lugar tão misterioso.
- Acho melhor voltarmos.
- Não. Cheguei até aqui e irei em frente. Se não quiser acompanhar-me pode voltar.
Resolutamente penetrou na mata, seguindo o estreito trilheiro que havia entre as árvores.
- Sylvia!...
Em vez de responder ela desatou em desabalada carreira.
- Que louca, meu Deus!... Tudo por um capricho.
Andou em sua perseguição, mas só ouvia os seus passos correndo esmagando as folhas e os gravetos da selva. Precisava correr para alcançá-la.
Tornou a gritar por seu nome, apavorado pelo esforço despendido por Sylvia, não esquecendo de que não poderia arriscar-se a tanto.
Mas ela não respondia e continuava a correr na mata.
Deveria estar se aproximando da clareira fatídica. Lugar onde jurara não mais pôr os pés. Correu mais e a luz do dia se filtrava em jorros escapando pelos buracos das árvores. A clareira estava lá em toda a sua magnificência.
Sylvia estava parada, ofegante, com as mãos nas cadeiras espiando a grandeza e a altura das árvores em torno. Virou-se desafiante para ele.
- Você queria esconder isso tudo para você?
Andou para junto do tronco do jatobá e sentou-se nas suas grandes raízes, ameaçadoras como garras aduncas. Soltou um rugido ameaçador.
- Por favor, não se sente aí.
Os olhos dele eram feitos de raios incandescentes. Todo seu corpo se agitava em tremores e o suor da caminhada apressada escorria-lhe pela testa. Parecia tomado pelos demônios de todas as loucuras. A boca descaía-lhe e deixava escapar uma baba pegajosa.
- Que foi, Gum?
Amedrontada ergueu-se e tentou se afastar do vulto que parecia se aproximar em êxtase. Os olhos, duas bolas de vidro enfoguecidas. Não eram do mesmo homem as feições tumefactas: ele devia estar longe, muito longe...
...Fazia mais de três anos, quando de uma feita Paula lhe dera uma folga, vendo que um começo de tristeza começava a atacá-lo. Naqueles momentos ela compreendia que o estranho grito da selva o estava chamando. Abriu as garras de sua ternura e deixou-o partir. Assim fazendo estava garantida de não perdê-lo nunca.
Viera como sempre para o seu quartel-general: a Ilha do Bananal. De lá cada vez tomava uma região da selva que desejava visitar. Optou pelo Xingu mesmo. Estava feliz e contente. O tempo de maio se apresentava maravilhoso. As noites frias e sem mosquitos, os dias longos, quentes e de céu azulado, as águas do rio frias e gostosas se preparando para o verão gelado.
Não havia doença na aldeia nem no Posto, além de coisas simples e sem complicações. O Posto encontrava-se completo com a presença de Cláudio e de Orlando. Tudo era música e alegria. Por cima de tudo não havia nenhum turista para chatear e quebrar a paz do ambiente. Longe tinha a certeza do amor de Paula que o aguardava com carinho.
Uma tarde, depois de se espreguiçar e se cansar do macio da rede, meteu os pés de banda e saltou ao chão.
Iria tomar um banho no rio, depois pegaria um café requentado na chapa do fogão e iria ver a vida, olhar as árvores, escutar o canto dos pássaros.
Não procurou uma carabina, mas sim um pequeno revólver Smith Wesson 32 que pertencera a seu pai. Não pretendia caçar, não matar nada, sim defender-se em caso de necessidade.
Atravessou o campo de aviação, varou os pés de mangaba e penetrou na boca da selva. Era uma das matas mais bonitas. Muitas vezes vinha ali na boca da noite caçar jacobins e mutuns, quando não acompanhava um índio para matar um macaco.
A selva estava esfuziante: cantos e vozes por todo lado, provocados pela sua presença importuna. Borboletas de asas azuladas voavam quase rente ao tapete de folhagens que existia entre cada árvore secular. Por vezes parecia ter escurecido porque a luz do dia mal podia se coar pelo cerrado bruto da mataria exuberante.
Uma paz de espírito incomum existia em todo o seu corpo.
- Só quem vai morrer pode ter uma paz assim! Sorriu espantado pelo esdrúxulo pensamento.
- Que idéia!
Caminhou mais no macio do trilheiro. Logo, logo, atingiria a clareira. Ouviu passos sorrateiros que vinham pelas suas costas. Virou-se segurando o revólver, pronto para tudo, mas sorriu. O velho perdigueiro do Posto, ali abandonado havia alguns anos por um oficial que viera fazer temporada de caça, pressentira sua saída e o acompanhara em silêncio.
Fez festa ao bicho e dessa vez caminharam bem próximos um do outro.
- Não queria que sozinho devorasse tanta beleza, não é velho amigo? O cão abanou a cauda satisfeito com a atenção que lhe dispensava o homem.
Ei-la, plena de beleza e magnitude. A clareira-rainha. Atravessou-a invadindo aquele círculo de luz que se filtrava entre as grandes copas.
Sentou-se nas grandes unhas de um jatobá e tirou o chapéu, libertando os cabelos suados. Ficou a examinar a vida modesta dos pequenos. A luta das formigas carregando folhas ou pequenos insetos mortos. Levantou a cabeça para apreciar a queda das folhas mortas que imitavam as borboletas em danças parecidas. O céu muito azul dominava tudo sem uma mancha de nuvem. Os mil gritos e sons da selva vieram aumentar-lhe ainda mais a paz do coração.
O cão se deitara perto, apoiando a cabeça numa das patas distendidas para a frente.
O demônio escorregou-se pelas ramagens e aproximou-se do seu ouvido.
- Só quem vai morrer pode ter uma paz assim. Sorriu com a idéia que o perseguia.
- Mas morrer por que?
- Morrer. Simplesmente morrer. Morrer de felicidade, ao contrário dos outros. Morrer sem dor, sem sentir que a vida nunca foi uma coisa que valesse viver.
- Morrer agora? Se sou moço, sou feliz, tenho alguém que me quer, tenho um relativo sucesso e muitos amigos.
- Assim que se deveria morrer. Para que esperar a velhice? O tempo inexorável que vai enfeiar o seu corpo, seu belo rosto, tirar a luz dos seus ainda fortes olhos...
Começou a se impressionar com aquela conversa. Tentou não prestar atenção às tentações do diabo.
- Talvez você seja como os outros; prefira esperar a vida, apodrecendo aos poucos. Vendo que tudo que se tem é dado para se perder. Talvez você prefira uma velhice longa e doentia, a perda do seu amor, o conhecimento de que seus dotes artísticos começarão a falhar.
Engoliu em seco emocionado. A selva estava esparramando os seus tentáculos de fascínio, provocando a febre da solidão. Mas tudo era tão calmo que não chegava a causar angústia nem horror.
- Ou então você conserve uma vida para, no futuro, entregá-la às mãos recurvas de um câncer, ou para o estourar das raízes de um enfarte demorado... Morrer assim, vendo o céu, vendo a paz, com o coração estourando de calma e beatitude como você sente agora, sim. Morrer sabendo que fará falta, ter a certeza de que não incomoda nem que está sobrando para os outros. Que lhe custa? O próprio amor seria sublimado num mistério indissolúvel e poderia permanecer dentro da miserabilíssima eternidade de uma existência. É por que não, bobo? É questão de segundos. A morte é um grande sono sem dor! Um dia ela virá de qualquer maneira. Um segundo apenas e a morte não é mais dor. Não é tão grande dor como viver. Ninguém se lembra da dor quando se nasce, ninguém sente a dor quando se morre mesmo...
Os olhos foram tomados de deslumbramento; a febre o atinaria no clímax. Viu o verde das árvores, o céu azul, o canto das aves e tudo ia formando uma sinfonia linda, se transformando num canto convidativo para adormecer.
Tinha consciência do que fazia, mas não sentia remorso ou culpa. Somente aquela curiosidade enorme de dormir. Dormir grandemente, compridamente. Não sofrer mais a ameaça de angústia, esquecer de que vivera e que vida é dor.
Tomado de felicidade, nem sequer pensou no que iria acontecer depois, não depois da morte em busca de outra vida, mas depois da morte física, no destino que dariam a seu corpo nem o que poderiam pensar de sua atitude trágica. Pois que não a sentia trágica em absoluto. Visto que quem quer dormir completamente só anseia pelos pedaços da alma. Só a alma...
Embriagado de paz levantou a mão e encostou o cano do revólver sobre o coração. Não fechou os olhos porque queria dormir ouvindo os cantos da vida; vendo até o último momento o verdor luxuriante da mata e o azul maravilhoso de um céu inútil.
Acionou o gatilho. Mas o tiro falhou. Ainda possuído pelo êxtase, tornou a acionar o gatilho, novamente. Tentou de novo e nada.
Só então caiu no horror da realidade. Foi apossado de um tremor violento e do peito escapou um uivo doloroso. A selva perdera toda a calma e se arremessava num vendaval louco, inesperado. As árvores se chicoteavam tanto, os galhos se agitavam numa tal violência que conseguiam se cruzar encobrindo o azul lá em cima.
Começou a chorar desesperado, e o demônio fazia toda aquela destruição para compensar o seu total fracasso.
- Meu Deus, o que estava fazendo?
O cachorro se pôs de pé e os pêlos do dorso estavam todos eriçados. Ganiu como um bicho maltratado, levantando o focinho para o céu. Súbito a mata se acalmou de todo e um cheiro de goiaba fortíssimo sobrepujou o odor de húmus e da seiva selvagem.
Uma luz amarelecenta surgia no extremo da mata e vinha lentamente se achegando.
O perdigueiro ganiu mais, completamente amedrontado, e foi se afastando espavorido, sumindo selva adentro.
Dentro da luz amarelenta viu aproximar-se o vulto de seu pai morto. Tinha o olhar prisioneiro sobre o seu corpo. Via que se encontrava vestido num pijama azul-claro e que calçava as mesmas chinelas de couro. E as chinelas repetiam o ruído que antigamente faziam sobre o ladrilho do banheiro e da copa de sua antiga casa, embora apenas tocassem no tenro matinho do chão.
Parou à sua frente e a tristeza dos seus olhos estava umedecida de lágrimas. O rosto estava bem barbeado com aquela sombra escura que os pêlos raspados lhe deixavam no rosto. Sua voz apareceu também triste e uma só palavra lhe escapou de início:
- Louco!
Depois, abrindo os braços em cruz continuou a falar-lhe:
- Por que isso, meu filho? Por que tudo isso? Por que negociar assim a face de Deus?
Abaixou os braços e foi sentar-se a seu lado, numa das grandes raízes.
Abó escondeu a face molhada nos braços que se apoiavam nos joelhos.
O pai continuava a falar-lhe, porém, dessa vez mais brandamente.
- Ninguém elimina a vida por diletantismo, meu filho. A vida é uma coisa mais que graça, mais cara e difícil do que a própria morte. Nenhum suicida que se mate por desinteresse tem a possibilidade de redenção. Somente os que eliminam a vida por amor ou desespero podem encontrar uma possibilidade de salvação. A vida existe para ser vivida até o momento que Deus achar suficiente... Levantou-se e, de pé, prosseguiu:
- Eu estou triste, meu filho. Triste na eternidade do meu sono. Olhe para os meus olhos.
Obedeceu sem poder recusar àquela atração.
- Não deixe que meus olhos prossigam pelo tempo sem conta, guardando essa marca de tristeza. Promete? Agora apanhe a arma.
Obedeceu sem relutar.
- Eu me vou. Preciso ir. Que Deus tenha piedade da sua alma. Sumiu com a luz amarelecenta na mesma direção de onde viera.
A selva recomeçou a viver sua vida comum, esquecida e indiferente ao terrível drama por que passara.
Estava com a arma nas mãos e os joelhos ainda tremendo de emoção. A custo conseguiu levantar-se, colocar o chapéu na cabeça e procurar o caminho de volta.
Jogou-se na rede e todo mundo estranhou a esquisita febre que se apossou dele durante três dias.
Quinze dias depois, estavam todos conversando sobre armas, porque arma sempre fora a paixão de Cláudio. E ele comentava:
- Na minha coleção está faltando um Smith Wesson 32, daqueles que abrem por cima, tipo que chamam gatilho de cão. Ainda não consegui um desses.
Abó ficou arrepiado pela coincidência.
- Mas eu tenho um. Você nunca viu?
- Não. Quer me mostrar?
Foi nas suas coisas e retornou com o revólver fatídico.
- É exatamente desses.
Impressionado com aquilo, Abó sentiu-se arrepiado.
- Pois pode ficar com ele; foi de meu pai.
- Você está louco! Uma coisa que foi do seu pai, não se dá assim.
- É até uma caridade que você me faz... Somente que ele precisa ser consertado. Deve ter algum defeito que não dispara.
- Tem bala?
- As cinco que cabem no tambor.
Cláudio levou a arma aos olhos, fechou um e mirou o grande tronco do jatobá do terreiro. Puxou o gatilho e os cinco tiros foram detonados...
Sylvia ainda estarrecida espiava para as suas feições transtornadas. Tomada de um gesto acolhedor, segurou pelos braços.
- Gum!... Gum!... Honey... O que foi isso? Eu não sabia que essa selva iria lhe fazer tanto mal.
- Nós não devíamos ter vindo. Você teimou. Você não podia sentar-se ali.
Indicou a raiz do jatobá.
- Ali, nunca.
- Por quê, querido?
- Ali fede a sangue. Ali é a raiz do meu pai. E você sempre o odiou. Você tem ódio dele, ainda guardado no fundo do seu coração.
Quarto Capítulo - A Verdade de Cada Um
- ESTOU grávida!
Sentiu-se empalidecer àquela frase.
- Que foi? Estou contando um fato verídico. Estou grávida! Ficara sem saber o que responder e isso de certo modo irritara
Sylvia.
- O que há demais nisso? Somos normais. Um homem dorme com uma mulher e vice-versa. A mulher deixa de ter os fluxos mensais, por dois meses seguidos. Logo...
A declaração dita tão a frio, fazia com que eclodissem definitivamente todas as reservas do absurdo. Não poderia ser verdade. Um filho naquele momento e naquelas circunstâncias tinha o caráter de um crime aviltante. Um filho assim só seria para apressar uma morte vinculada por um prazo fixo.
Cocou a cabeça desorientado.
Sylvia principiava a enfurecer-se com a sua atitude inexplicável.
- É assim que você demonstra receber a notícia que lhe dou? Um filho nosso não tem significado algum?
Tentou justificar-se:
- Não é isso, querida. Você não pode ter um filho. Nunca deverá ter um filho.
Deu uma risada desafiante.
- Quem vai ter a criança sou eu. Eu que sei se devo e posso tê-la. Seus olhos estavam furiosos.
- Pois bem, se você não o quer, quero-o eu. Terei esse filho nem que morra. Nem que seja para que viva nos Estados Unidos sem conhecer o pai.
Fechou as mãos com raiva e ameaçou.
- Pode ficar certo, Gum. Esse filho será só meu. Meu. Ouviu? Ele irá para longe e você nunca saberá como ele é...
Virou as costas e saiu quase correndo a descer a barranca que levava ao Rio Tuatuari.
Desorientado ele a seguiu, ela sentara-se sobre um velho tronco de palmeira e molhava os pés dentro d'água. Seus olhos perdiam-se no outro lado, acompanhando o verdor da selva.
Aproximou-se com cuidado e tocou-a nos ombros.
- Talvez eu tenha ficado tão apalermado com a notícia que não tenha sabido externar a minha surpresa.
Sylvia se acalmara um pouco.
- Até que não. Você soube muito bem demonstrar a sua indiferença pelo fato.
- Não foi isso. Você complica as coisas: não consigo esquecer que você não pode ter esse filho. Você não compreende isso, Sylvia?
- O problema é meu, Gum. Só meu. Se você não o quer, como bem se viu, eu o terei e atrairei sobre mim toda a responsabilidade. Já disse e está encerrado o assunto.
Levantou-se e voltou devagar, mostrando claramente que não desejava que ele a acompanhasse. Mas ele gritou à sua subida.
- Seja o que você quiser ou decidir, mas no próximo avião começaremos a retornar.
No caso, pensava, um médico. E no caso do médico, um amigo. Mormente quando esse amigo-médico estava já a par de toda a complicação de sua vida. Pusera-o ciente de tudo antes de sua partida para a sacrificada viagem.
A enfermeira o reconheceu com um sorriso.
- O senhor está preto! E mais magro também.
- Apanhei muito sol na selva.
- Que invejai E a gente aqui nesse frio danado, sem um pouquinho de sol. O senhor é que sabe levar a vida.
- Dr. Afonso está?
- O senhor tem sorte. Toda vez que aparece, ele está desocupado ou para desocupar. Vou avisá-lo.
Logo em seguida Dr. Afonso apareceu na porta, satisfeito.
- Puxa! Ainda ontem estava pensando, preocupado, na sua vida. Abraçaram-se amigavelmente.
- Vamos para o confessionário.
Sentou-se atrás da mesa de clínica e ofereceu uma cadeira ao lado. Fez uma pausa para recuperar-se e comentou apontando o bigode do médico:
- Seu bigode está começando a pintar. Logo, logo, você precisa raspar: mulher quando começa a ficar velha, dana-se para usar cor-de-rosa. Homem raspa o bigode.
- Mais uns dias e eu raspo; aceito o conselho. Tomaram uma atitude mais séria.
- Boa viagem?
- Não tanto: fizemos o roteiro Araguaia. Depois Xingu. Mas nunca fiz uma virada tão aborrecida. Fiquei com uma preocupação tão grande que nem podia dormir. Uma insônia desgraçada.
- Não era para menos. É?
- Afonso, estou completamente desorientado. Completamente mesmo.
- O que houve?
- O caso de Sylvia.
O seu rosto ensombreceu-se de preocupação.
- Ela piorou muito?
- Ao contrário. Com a doença que tem, o sol, o fumo e a bebida parecem ter melhorado a sua saúde.
- Ela levou algum medicamento para as dores que sentia?
- Levou algumas pílulas brancas. De quando em vez, mas isso era raro, tomava uma e ficava algumas horas em repouso. Realmente não me lembro de alguma vez que se tenha queixado de grandes dores.
- Isso parece estranho. Mas às vezes a doença devido a um clima emocional do paciente, pode sofrer um período de menor intensidade.
- Prepare-se para um soco no olho! Ela está grávida! Realmente um soco não faria tamanha surpresa em Afonso. Chegou
a dar um pulo na cadeira.
- Não!!!...
- É... Pois é.
- Mas como? Se ela tem...
- Por isso estou aqui. Ela poderia ficar grávida?
- Com o câncer que disse ter a você e no local que diz ter, nunca.
- Isso não poderia abreviar sua vida?
- Não só isso, como não sustentaria a gravidez.
- É?
- Vamos partir do mais simples comecinho. Você não observou se ela... normalmente se realizou?
- Nem pensei nisso. Era bem fácil disfarçar. Por exemplo: nós tivemos rixas e atritos terríveis. Por vezes ficamos como meninos buchudos, de mal. De uma só feita, ficamos três dias sem nos tocar. No Xingu, passei alguns dias fora, visitando aldeias onde tinha índio doente. Pode ser que num desses momentos.
- Pode ser. Mas então não deu para ver essa parte?
- Eu lá ia imaginar uma coisa dessas.
Afonso acendeu um cigarro e ofereceu o maço para o amigo.
- E agora, Doutor, quero ver você sair dessa com toda a sua sabedoria e folquilorismo.
- A sinuca é sua e bem sua. Mas vamos pensar nuns pontos importantes que você nunca me esclareceu. Pelo menos antes de vocês embarcarem.
- Pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa, mas tudo que você me perguntou eu respondi.
- Aquele ponto que você não sabia. É importante: você conseguiu descobrir de que o marido dela morreu?
- Com muito cuidado, soube que ele morreu de câncer na garganta, no esôfago, ao que depreendi. E ela foi de uma dedicação a toda prova. Assistiu-o, porque ela é da Red Cross americana, até o momento da sua morte.
- Aí está o mais importante de tudo.
- Sei. Mas você não vai acreditar que o câncer é assim contagioso.
- Não; nada disso. Você não teria um jeito de fazer com que ela se aproximasse de mim?
- Tentei trazê-la, mais ela recusou-se: Em vez de vir comigo, ficou arrumando as "malas- para: embarcar amanhã cedo para o Rio. Diz que lá visitará um médico amigo que conhece todo o seu caso...
- Bem bolado.
- Mas ela tem ou não tem o câncer, Afonso?
- Tem.
O rapaz encostou-se desanimado na cadeira.
- Agora quem diz "não!" sou eu.
- É meu velho, o negócio é complicado. Mais ainda do que você pensa.
- Mas você não garantiu que se ela está com a doença não pode ficar grávida?
- Sem dúvida. Precisamos estudar as três hipóteses: ela está grávida e não tem câncer; ela está com câncer e não está grávida; ela não tem câncer e não está grávida.
- Essa última hipótese é que todos meus amigos a quem conto a história, apoiam mais.
- Mas mesmo nessa hipótese, ela continua com o câncer.
- Por Jesus Cristinho do carneirinho nas costas, Afonso pare de me enlouquecer...
- Aí está a chave de tudo. Pode ser que o câncer seja de natureza mental. Exclusivamente psíquico. E esse não vai ter cura.
- Por quê? Se ela descobre a causa, pode curar-se.
- Nem sempre a psicanálise, apresentando as causas, cura o doente. Pode melhorá-lo, mas não o curar. Agora preste a atenção numa grande probabilidade. Não garanto que seja verdade, por isso falei em probabilidade. Vejamos: você foi a paixão de sua vida, da sua adolescência, não foi?
- Certo.
- Todo mundo foi contra vocês dois, não?
- Exato.
- Você foi para um lado e ela para outro. Você conseguiu esquecê-la, não?
- Era o que de mais prático a vida oferecia. Por que ficar me ralando numa pedra de dor?
- Você conseguiu. Ela não. Daí fez tudo isso por amor. Amor.
- Mas não precisava a história do câncer, no meio.
- Não se esqueça que os anos passaram. Ela não tinha certeza de reconquistá-lo. E resolveu fazer isso, nem que fosse à custa da piedade. Da sua piedade. Amor, meu velho. Exclusivamente. E esse câncer, chama-se frustração. Nunca terá cura. Porque a seu modo você continuará sendo a grande paixão da sua vida. Mesmo que você descubra a verdade, mesmo que você a odeie e despreze, ela nunca deixará de amá-lo. É um caso crônico.
- Deve ser isso. Porque ela, sentindo isso, vai embora.
- Em parte, ela se realizou. Não totalmente satisfeita, mas parcialmente feliz.
- Pomba! Como nos digladiamos com esse nosso problema. Juro que ao sair daqui estarei mais lépido e aliviado.
- Isso se eu não fizer uma perguntinha toda minha, meu belo. E você vai ouvir.
Fez um ar bastante grave, diferente dos que empregava quando era médico e amigo.
- E se ela estiver realmente grávida?
- Já brigamos potes por causa, disso. Ela jurou que levará o filho aos Estados Unidos e que eu nunca olharei para a cara dele.
Afonso levantou-se e circulou a mesa. Colocou a mão sobre as costas desanimadas do amigo.
- Vai jantar comigo hoje, vai. A gente pode conversar largamente sobre o assunto. A alma humana, meu velho, é bastante complexa.
- Hoje não dá. Amanhã irei sem falta. Hoje é a nossa "última" noite dessa estranha lua-de-mel.
- Agora tenho um cliente com hora marcada. Mas vou descansá-lo espiritualmente. Você queria esse filho?
- Não sei, se da maneira trágica e no ambiente que ele foi formado.
- Se de fato existe a criança, ela não vingará. Sylvia ama por demais a vida. Que desculpas ela iria dar aos amigos nos Estados Unidos aparecendo com um filho?...
- Não pensara nisso.
- Pois pense. Ou então você julga que todos os seus amigos lá estão cientes do câncer que ela imaginou espiritualmente? Faço até uma aposta com você.
- Qual?
- Em breve - dou uns dois meses de prazo - você receberá uma carta dizendo que por um motivo ou por outro, a criança foi perdida. Ou real, ou mentalmente essa criança nunca irá existir. Pode descansar esse coraçãozinho. E o outro caso?
- Paula? Deus do céu! Vou juntar o maior cabedal de minha humildade para pedir perdão de uma falta que praticamente não procurei cometê-la. Pelo menos dessa vez fui arrastado aos trambolhões para dentro da enrascada.
Abraçaram-se e ele saiu mais aliviado.
No automóvel Gema comentava incrédula.
- Deus do céu! Que coragem brincar com uma doença dessas. É de deixar a gente arrepiada.
- Tudo mental.
- Só pode mesmo ser. Porque uma pessoa em sã consciência não inventava uma história dessas.
Reparou na palidez do rapaz; pegou de leve em sua mão.
- Você está acabado. Tão pálido que parece que vai desfalecer.
- Fico três meses numa situação de nervosismo danado sem ter nem paz nem sono para dormir: agora faz quinze dias que espero Paula chegar. Essa expectativa me deixa maluco e abatido.
- Afinal ela está chegando. Possivelmente, se não houver atraso no avião, dentro de uma hora estará entre nós.
- Entre vocês, melhor dito.
Rodou a rosa amarela nervosamente entre os dedos.
- Gemoca, você bem que podia me fazer um favor. Esta rosa. Não sei se poderei falar com Paula ou se ela vai querer falar comigo hoje. Vim mesmo conformado em só olhar a sua figura: nada mais. Você poderia entregar-lhe? Mesmo porque deverá haver outra pessoa no desembarque.
- A Lady Senhora? Certissimamente... Mas não fique assim tão apavorado como menino que vai tomar uma injeção pela primeira vez. Paula vai me chamar, como sempre o faz, para jantar. Quer contar as novidades. Na certa, dessa vez, quer saber das "novidades". Falarei de você com todo o meu calor humano. Somos amigos e não acredito que nessa história toda, alguém pudesse agir diferente do que você agiu.
O carro se aproximava do aeroporto, motivo pelo qual as mãos de Baby ficaram nervosas e a palidez aumentou no seu rosto, a ponto dos lábios se descolorirem.
- E a outra?
- Deve estar nos Estados Unidos a essa hora: mostrando as tais fotografias...
- Deus meu! Não posso me conformar com a idéia da doença. Tem gente pra tudo no mundo. Então eu levo a rosa?
- Por favor. Aqui nos separamos.
Pagou o táxi e desceu. Estendeu a mão à Gema para ajudá-la. Depois deu um beijo amigo em sua face.
- Obrigado, querida. De longe ficarei vendo você palestrar com a Lady Senhora. Caso Paula queira me ver, eu estarei ao lado das cabinas de telefone...
Dentro do aeroporto avistou um grupo de amigos de Paula e no centro, em sua grande dignidade, a Lady Senhora.
Era de bom alvitre ficar passeando do lado de fora, olhando indiferente as marcas dos automóveis. O avião atrasara meia hora. E meia hora significava uma eternidade paralítica, dentro de todos aqueles aborrecimentos que não acabavam nunca.
- Que tem o senhor? Tão abatido? Nunca o vi assim tão triste. Deu de cara com o rosto amigo e sorridente de Dambroise. Ele
sabia bem o drama que estava vivendo.
- Estive viajando... E você como vai, Dambroise?
- Muito contente porque Dona Paula está chegando. O senhor sabia?
Riu para ele, mostrando que compreendia tudo o que queria dizer nas entrelinhas. Despediu-se e saiu andando sem pressa. Antes de alcançar distância, Dambroise não resistiu, acompanhou-o e disse quase ao seu ouvido:
- Monsieur, espero vê-lo o mais cedo possível. E com um aspecto mais animador.
Sorriu agradecendo e continuou sua caminhada pela calçada.
Quando o avião estava para chegar, aproximou-se da seção dos telefones e ficou esperando. O desembarque demorava. Havia sempre a passagem na alfândega e a vistoria das bagagens. Seu coração deu um pulo. Ela, Paula. A diaba estava cada vez mais linda, mais mulher, mais elegante: passou sorrindo no meio dos amigos. Na sua mão estava uma rosa amarela. Mas nem sequer olhou para seu lado. Conhecia Paula de sobra. Muitos anos de convivência e intimidade, garantiam-lhe que no começo ela o esnobaria o quanto possível. Mas a tristeza segredou-lhe cautela, afastando com cuidado as esperanças. E se ela estivesse cansada dele? Não. Nesse caso não teria aceito a rosa. Mas bem que poderia ter arranjado um novo caso em Paris. E não era difícil para uma mulher tão maravilhosa como Paula.
Durante três dias remoeu-se de impaciência. Olhava como que fascinado para o telefone mudo. E nada. Não tinha coragem de ligar para ela. Nunca o poderia fazer. Precisava que ela se decidisse, que achasse o tempo do castigo suficiente... O telefone continuava deitado e adormecido. Ficava perto dele todas as horas costumeiras dos telefonemas de Paula. E nada. E já tinham se passado três dias e três noites. Ficava rodando pelos bares. Encontrando amigos sem vontade ou sem interesse nos bate-papos. Até a bebida perdera o gosto. Tudo tresandava a solidão e expectativa. Voltava perto das duas horas da manhã, certo que estaria embaixo da porta um bilhete de Paula, e nada. Jogava-se na cama de qualquer jeito, esperando que passasse um pouco a bebedeira para compor-se e ir dormir. Talvez que no dia seguinte...
Tirou a chave do bolso e girou-a com dificuldade na fechadura. Acendeu a luz do hall e o que viu fê-lo recobrar toda a serenidade acabando de um golpe com os efeitos da bebida. Sobre a secretária num pequeno jarro havia uma linda rosa amarela.
Notou que a luz do seu quarto estava acesa e escapava por baixo da porta. Abriu-a de um ímpeto. Paula encontrava-se com os travesseiros suspensos, reclinada perto do abajur e sorrindo para ele.
- Alô, Baby.
Respondeu à saudação sem se aproximar. Jogou-se numa poltrona como se quisesse mesmo acreditar na presença de Paula.
- Alô, Paula.
- Aí em cima do sofá tem um embrulho. Um presente meu para você. Você não merece - lá vinha ela com a primeira repreensão. Mas em todo caso...
- Se eu não mereço, por que você trouxe?
- Talvez porque você fica muito bem de amarelo.
Apanhou o pacote sem pressa e abriu-o. Depois tomado de um gesto instintivo alisou o rosto na seda da camisa esporte. Paula sabia que pensava naquele justo momento. Era uma das suas mais deliciosas descobertas: "Seda é a única coisa que alisa a gente sem interesse".
- Gostou?
- É lindo. Obrigado.
- Ainda bem.
Ficaram os dois se olhando à distância. Ela estava linda e segura do que fazia. Resolveu começar o seu jogo de perdão. Se não o chamasse ele ficaria a vida inteira à espera de que se decidisse a fazê-lo.
- Venha aqui.
Chegou-se perto e ela indicou o chão perto da cama como ele tanto gostava de fazer. Obedeceu sem pressa. Lançou um olhar súplice e a voz saiu miúda.
- Como antigamente?
- Ainda não. Mas deixe-me vê-lo um pouco. Suspendeu o seu queixo e mirou seu rosto abatido.
- Pelo menos você poderia ter-se barbeado. Também emagreceu um pouco.
- Você demorou tanto a aparecer, Pô...
- Que é que você queria? Também eu não esperei tanto tempo?
Ele recolheu o seu rápido princípio de ataque e voltou ao seu castigo. Entretanto não pôde deixar de resmungar:
- Essa alfinetada foi bem na bunda...
Deixou apenas transparecer um sorriso sem que ele visse, quando tinha realmente vontade de dar uma gargalhada gostosa.
Desajeitadamente começou a contar tudo que se passara entre Sylvia e ele. Sintetizou procurando apenas os pontos que sabia interessar a Paula. Revelou a visita que fizera ao médico amigo e o resultado que tiveram da conversa.
Paula arrepiou-se toda e fez quase o mesmo comentário de Gema.
- Essa moça que teve um marido que morreu dessa doença, não ficou com medo de Deus? Puxa! Brincar com uma coisa dessas!
- Por- amor se faz tudo. Estudou e transferiu todos os sintomas da doença dele, e diz Afonso que ela se convenceu primeiro da história, para melhor convencer os outros.
- Mas ela acreditou alguma vez naquilo tudo?
- A mente humana é terrivelmente complexa, Paula. Ela deve ter acreditado piamente para poder ter coragem de executar o plano. Felizmente tudo foi um pesadelo.
- Felizmente mesmo.
- Eu já estava horrorizado de ter de ver outra pessoa definhar com um câncer... Era horrenda a perspectiva...
- Bem, essa fase passou também.
Olhou o relógio no pulso e espreguiçou-se.
- Deus meu! Quase quatro e quinze da manhã!
- Isso não é nada para quem veio de Paris. Ela sorriu.
- Estava linda a Primavera!... Sabe o que me deu vontade agora, Baby?
Enfiou com força as unhas entre seus cabelos.
Ele sorriu. Mas ela desfez a ilusão.
- Não. Não é bem isso que você está pensando. Me deu vontade e, se não fosse tão tarde, eu pediria para que você nos fizesse um cafezinho bem forte, para tirar o gosto dessa história fantasmagórica.
- Eu faço. Mas enquanto a água ferve, posso tomar um banho? Faz bem dois dias que não tomo uma ducha. Estou podre.
- Por quê?
- Você ainda o pergunta? Porque estava desanimado. Porque estava triste e ansioso. Porque eu mesmo me boto de castigo de vez em quando.
- Se eu não estivesse tão zangada com você, teria achado essa confissão uma delícia.
- Sei que você tem toda razão, Pô. Mas desde que você chegou que não faço outra coisa que não seja arrastar meu rabo no chão, pedindo perdão em tudo. Até no modo como contei toda a tragédia.
Saiu para a cozinha e ela ouviu que ele acendia o gás do pequeno fogão. Levantou-se e foi se sentar numa cadeira da copa para poder "apreciá-lo" bem. O coração, se não fosse o domínio da mente, estava repetindo há muito: porque perder tanto tempo? Ou então a vontade refreada de dizer: "meu querido querido, eu te amo... Eu te amo"...
Enquanto tirava a camisa para ir banhar-se, não se conteve e comentou mal-humorado.
- Também sua zanga está parecendo o Bolero de Ravel, que não acaba nunca!...
Deixou a porta do banheiro aberta para que ela ouvisse o descer da água sobre o seu corpo. Para que o cheiro do sabonete que ela escolhia chegasse até suas narinas.
- Pô, você pode se zangar, mas vou dizer.
- Sim.
- "Eu te amo"...
- Verdade? Vou levar cento e sessenta séculos para tornar a acreditar nisso.
Agora era diferente, era a doce briguinha de amor. Gostosa, gostosíssima, gostosérrima, quente, quentíssima, quentérrima, de se sentir...
Esperou que ele aparecesse com os cabelos úmidos, envolto no robe-de-chambre azulado. Ele parou como se estivesse vendo uma visão. Então não se conteve. Arremessou-se de joelhos e com as mãos envolveu o corpo de Paula.
Um grito selvagem escapou-se de sua garganta e sua voz era toda uma confissão de ternura e paixão.
- Pô. Pupinha, você voltou. Você voltou para a minha vida. Deixou que ele sentisse mais o seu corpo e passou a mão sobre o seu coração carinhosamente.
- Voltei, querido. Voltei, mas olhe-me bem.
Puxou seus cabelos com força e sustentou sua cabeça bem próxima aos seus olhos.
- Não quero que isso se repita mais. Nunca mais.
- Nunca, Pôzinha. Nunca mais. Juro que ninguém mais me tomará de você. Nunca mais a tratarei como se fosse uma simples cafiaspirina.
Aí ela riu gostoso pela primeira vez. No momento mais grandioso e terno ele aparecia com uma comparação deliciosamente maluca como só ele sabia descobrir.
- Que tem a cafiaspirina com isso?
- Você nunca ouviu um reclame de rádio que fala uma coisa assim: mudou, experimentou, não deu certo, voltou para ela, a cafiaspirina. Um jingle mais ou menos assim, provando que a cafiaspirina é o absoluto.
Estreitou mais o rapaz contra o seu peito. Fazia aquilo como para apertar o coração, evitando que estourasse de felicidade.
- Você quer mesmo o café?
- Não sei.
- Eu acho que nós achamos que você não quer.
- Se você acha que nós achamos eu também acho. Tomou Paula nos braços e levou-a para a cama.
Beijou seus olhos, seus cabelos. Mordeu sua boca e confessou alucinado de amor:
- Paula, sou eu que te amo desde que a primeira estrela foi criada.
- Para sempre? Toujours?
- Para sempre. Nunca mais deixarei você, querida. Nunca. Vamos ficar juntos toda a vida. Vamos ficar velhinhos, velhinhos e mais velhinhos ainda, assim como estamos agora. Seremos sempre nós dois de nós dois.
- Será, Baby?
- Juro. Aliás, nós nunca vamos envelhecer. Nunca. No amor não existe disso. Sem você eu não significo nada, nada, Paula.
Apertou-a mais em êxtase profundo:
- Você, Pô, é que é a minha vida!...
Quinto Capítulo - Paula e Paris: Toujours
E aquela coisa que nós chamamos de: o tempo!
O que mais doía profundamente era aquela verdade: Paula estava ficando velha. E o pior era o conhecimento dessa triste verdade.
Não queria pensar nisso, mas os fatos eram evidentes e sobretudo a conseqüência desses fatos.
Reconhecia também que o tempo avançava no seu rosto e no seu forte corpo. Que as formas se avolumavam mais e os músculos tendiam a tomar um maciço arredondamento. Mas com Paula dava-se o pior. Os nervos não tinham forças para sustentar a realidade. O ciúme doentio a perseguia como uma sombra. Exigia que se escondesse mais na vida. Dera para fiscalizar todos os seus atos e até queria exigir o modo com que gastava o seu dinheiro.
Procurava substituir tudo por uma carícia maior, por uma maior dose de paciência, por uma gratidão sempre posta à prova. Longe estavam os dias de fugas e de passeios, de irresponsabilidades e devaneios, onde tudo parecia revestido de sonho e de prazer. Cada saída que davam ultimamente servia para exasperar mais os nervos de Paula. Temia até os momentos que ela decidia partir para alguma parte. Evitava as discussões e tornava-se calado, o que também provocava novas cenas de tempestade. Muitas vezes ele a tomava nos braços, apertava-a junto a si e olhava-a bem dentro dos olhos.
- Mas o que há, Pupinha? Por que tudo isso? Sou o mesmo. Precisamos ser os mesmos como sempre o fomos.
Ela deixava-se acalentar e por uns segundos tentava a retornar à Paula. Mas seus olhos se enchiam dágua e sem outras explicações convincentes largava-se dos seus braços.
- São os meus nervos, Baby. Não sei o que há em mim.
Sentava-se numa languidez doentia num sofá e ficava fumando cigarros seguidamente.
Ajoelhava-se como antigamente e tentava deitar a sua cabeça em seu colo; implorava cheio de humildade:
- Paule, Paule, você precisa ir ao médico. Procurar um especialista. Assim não pode continuar. Nós estamos estragando a nossa vida. Não podemos atirar fora tanta coisa que vivemos juntos... Paule, Paule...
- Por favor, Baby, deixemos de lamúrias. Seria melhor que me preparasse um drink qualquer.
- Se é isso que você quer. Preparo dois: eu também tenho esse direito.
E depois do primeiro, vinha o segundo. E, logo em seguida, uma série de outros.
Era preciso fazer um esforço enorme dentro da própria bebedeira para carregar Paula quase inconsciente até o leito.
Dormiam horas sem ritmo. O tempo era um amassado de horas que sabiam a fel.
E Paula estava ficando velha. As formas fugiam de seu corpo. Uma magreza translúcida substituía aos poucos a sombra do seu corpo tão claro, tão cheio de outras sombras lindas.
Não resistiu e visitou a Lady Senhora. Explicou-lhe tudo com calma, interesse e clareza. Ela apenas olhou com tristeza e prometeu levar, convencer a Paula a procurar um especialista.
De noite foi pior a cena de Paula. Seus olhos fuzilavam dentro do brancor do seu rosto transtornado.
- Fui. Era isso que você queria? Pensou que estivesse louca! Pensava que eu iria para uma casa de saúde? Que você poderia ficar livre, livre de mim?...
Segurou os punhos de Paula que ameaçavam o seu rosto.
- Paula!... Paula!... O que é isso? Paula controle-se...
Ela desabou numa maré de choro que sacudia todo o seu corpo como um estertor de morte. Jogou-se num diva e gritou espavorida, enquanto um fio de saliva descia dos seus lábios, misturado com suas lágrimas.
- Baby, Baby. Por favor, por amor de Deus, se você ainda me tem um pouco de amor, me arranje qualquer coisa para beber. Preciso beber, Baby...
Fez-lhe a vontade. Ela tomou-lhe o copo das mãos com sofreguidão e bebeu um grande gole; parou um pouco para respirar. Limpou a boca com as costas da mão. Repetiu outra dose e fechou os olhos como se procurasse no escuro esconder a sua dor.
Depositou, ante os olhos espantados de Baby, o copo sobre a mesinha e tomou o rosto do rapaz entre suas mãos.
- Isso é que me faz bem, Baby. Isso é o que importa no momento.
- Mas você deve parar, Pô. Deve parar. Isso não pode continuar assim.
Ela riu com amargor e falou rascante:
- Isso, Baby, é o que eu preciso. E preciso também que você entenda que eu estou bebendo a mim mesma.
Esvaziou o copo e o entregou com as mãos trementes ao rapaz.
- Repita. Repita. Quero mais e mais. Não uísque. Quero conhaque agora. Sem gelo mesmo, porque é mais forte.
Não sabia o que fazer: temia que negando trouxesse Paula de novo àquele desvario anterior. Obedeceu sem relutar. Estava começando a entregar os pontos. Sua resistência também abalada pelo álcool a que já estava se habituando, se estilhaçava no vazio mais profundo.
Caminhou desalentado, apertando as mãos como se nesse gesto quisesse proteger dez anos de felicidade que se esboroavam na tempestade que aparecia lentamente e que crescia com furor. Tudo parecia perdido, sem esperança de salvação. Dez anos rápidos como um relâmpago. Rápidos como um minuto de felicidade, doloridos ao acabar, como mil anos de viver-dor.
Depois do primeiro especialista, vieram os outros. E Paula piorava sempre. Não havia remédio que detivesse a velhice. E sem conformação para tanto, Paula se entregava ao desespero. Talvez ela não fosse tão moça como o dissera da primeira vez; mas oh! o terrível mistério das mulheres!
Tomara-se de decisão estranha como se quisesse ainda aproveitar todos os vislumbres do que restava de sua beleza e enfraquecida mocidade. Não se satisfazia em beber em casa, em esconder o começo de sua ruína aos olhos dos outros. Parecia sàdicamente encontrar prazer em exibi-la. Em iludir-se com as frases fingidas de muitas amigas que também fugiam do mesmo problema.
- Você está ótima, Paula!
- Você não muda, Paula!
- Os anos passam e você continua a mesma!
Embriagava-se desde que tinha consciência de se achar mais ou menos acordada. Chegava quase carregada ao apartamento e exigia do rapaz uma paciência inesgotável. Tomava comprimidos para dormir. Acordava pedindo remédios para a ressaca. Quando melhorava, principiava novamente a sua busca ao álcool, ininterruptamente.
Baby também se ressentia dos efeitos do álcool: seus olhos, além da tristeza, possuíam agora uma falta de brilho incomum. Todavia o organismo forte e moço encontrava mais fácil recuperação que Paula.
Uma manhã Paula melhorou um pouco e não quis beber, ao levantar-se.
Chamou por ele.
Apareceu logo atendendo o chamado, certo de que principiaria o comum dos outros dias.
Paula encostada na cama o observava.
- Você dormiu aqui, Baby?
- Todos esses dias e essas noites tenho permanecido aqui a seu lado, Pô.
- Por quê? Você não se interessa por nada mais na vida?
Pensou antes de responder. Pensou no relaxamento dos seus últimos meses. Não aceitava mais encomendas para pintar. Esquecera-se de procurar ilustrar qualquer coisa. Desinteressara-se das exposições de pintura e nem procurava saber nas galerias como iam as vendas de seus trabalhos.
- Só existe você para mim, Paula. Nada mais. Ela foi tomada de inesperada meiguice.
- Venha cá, Baby.
Obedeceu sem relutar. Achegou-se à cama e observou a languidez de Paula.
- Aproxime-se mais, querido.
Que estaria se passando? Era uma trégua que surgia entre tantas horas de dor.
Acariciou-lhe o queixo e enfiou os seus dedos esguios entre seus cabelos por pentear.
- Baby, olhe-me bem nos olhos. Assim. Agora me responda mesmo que tenha de mentir.
Deu um sorriso triste antes de formular a pergunta.
- Baby, apesar de tudo, você ainda me ama? Ficou com os olhos cheios d'água antes de responder.
- Paula, Paule, existe uma palavra que nunca morrerá entre nós dois. Uma palavra que você mesma a descobriu: Toujours.
- Você se lembra como me beijava antigamente? Quando eu pedia um beijo daqueles, que você chamava de beijo-orquídea, de tão suave que era?
- Lembro, sim. Quem esquece essas coisas?
- Você seria capaz de me dar um, só um daqueles beijos-ternura?
Beijou, mal roçando, os lábios quentes de Paula, depois subiu aos seus olhos e murmurou numa ternura sincera:
- Esse é para que os seus lindos olhos não chorem mais.
Ficaram em silêncio sentindo o resto de uma pequena ternura que ressuscitava talvez por piedade.
- Baby, você ainda é um lindo homem. Um lindo homem mesmo!
- Você também...
As mãos de Paula aprisionaram-lhe a boca.
- Não precisa dizer, Baby. Eu não me iludo mais. Não sou mais a sombra fugidia do que foi Paula: mas por tudo, eu agradeço a você esse momento.
Alguma coisa de muito especial estaria para acontecer. Paula por um momento se divorciava da mulher áspera e torturada dos últimos tempos. Ainda lhe doía vivíssima a tarde em que ela chegara e lhe comunicara a decisão de freqüentar as boates. A crueldade com que estipulara a sua vontade.
- Tome, isso aqui é para as despesas. Quando acabar, lhe darei mais.
O monte de notas se derramando pela mesa, se desdobrando lentamente como se quisesse cair no chão.
- Guarde isso, Paula. Se o meu dinheiro faltar, então, lhe pedirei algum emprestado.
Ela o olhara com frieza, maldade até.
- Por que isso agora? Escrúpulo no final da partida?
Engoliu a ofensa em seco, sentindo que as faces se avermelhavam de vergonha. Nada pôde responder; restava apenas acompanhar o vulto esguio de Paula, penetrando no quarto e cerrando a porta sem barulho.
Permanecera o mais tempo possível, sem se mexer, respirando de leve até para não afastar aquele segundo tão raro de aproximação de Paula.
- Baby!...
- Hum-hum...
- Estive pensando numa coisa. Amanhã sairei com mamãe o dia todo e só retornarei à noite.
- Está bem.
Possivelmente iria procurar outro especialista. Pelo menos ao lado da Lady Senhora ela evitaria um pouco a bebida.
- Depois, pensei que se a gente fosse passar uns dias naquela casa da praia, a caminho de São Sebastião... talvez fosse bom.
Esquisito o conhecimento que tem o coração das coisas. Ele esteve quase inclinado a dizer que não seria bom, no seu estado de fraqueza e esgotamento.
- Você iria comigo? Você "ainda" iria comigo?
- Certamente, meu bem.
- Então está combinado.
- Em tese, sim. Mas queria que você me prometesse uma coisa.
- Oh! querido, não vá pedir que eu não beba. Isso seria totalmente impossível.
- Não é isso. Apenas não queria que você fosse dirigindo o carro. Dambroise poderia ir conosco dessa vez.
- Isso se pode resolver. Apesar de Dambroise estar ficando um pouco velho para certos esforços.
- Também não exageremos tanto. O homem nem fez sessenta anos e gente muito mais velha que ele continua dirigindo. OK?
- Certo. Agora por favor seja um anjo mais uma vez. Me arranje um drink qualquer.
Levantou-se desalentado. Sabia que Paula recomeçara a beber.
- O carro nos espera embaixo, madame. Já desci as malas. Seria melhor a senhora levar um agasalho mais pesado. O tempo está frio, e ameaça chover.
Apanhou um casaco de gola alta e envolveu os cabelos num leve lenço de seda lilás.
Desceu o elevador e encontrou-se na rua, onde Baby a esperava. Tomaram o carro sem nada dizer. Dambroise ia na direção.
- Foi bom ter pedido o carro da senhora sua mãe.
- É mais macio.
- Não quer ir na frente ao lado de Dambroise? Na frente joga menos. "
- Estou bem aqui. A vantagem do Mercedes é essa: em qualquer canto se viaja bem.
Durante toda a viagem ela manteve-se calada. Derreada num canto, guardando quase sempre a mesma posição. Fazendo com que metade do rosto se escondesse na gola alta do casaco. Somente uma vez ela procurou um gesto de ternura, colocando sua mão sobre a dele. E foi só. Por vezes notava que ela adormecia ou fechava os olhos fingindo dormir.
A viagem foi feita sob a chuva. O tempo parecia nada convidativo para uns feriados. Rezava para que os outros dias trouxessem o sol, para aliviar tanta tristeza e desencontro. Diferente das outras vezes que chegavam derramando alegria e encantamento. Talvez fosse, quem sabe? A chance de se recuperarem um pouco...
O tempo não contrariou os prognósticos e durante dois dias e duas noites a chuva peneirava-se fininha e irritante. Alisava ininterruptamente os vidros, criando lágrimas que se ligavam.
Dambroise era a verdadeira imagem de um anjo. Passando pela casa sem um ruído que incomodasse. Esmerava-se em preparar pratos que despertassem o apetite de Paula. Tudo inutilmente. Ela apenas beliscava a comida e sorria.
Colocava músicas românticas na eletrola, pensando ressuscitar os falecidos fantasmas do amor que ali existiram outrora. Tudo em vão. Nem o miserável tempo queria cooperar. Paula tornara-se pensativa e quieta. Terrivelmente indiferente a tudo. Quando muito chamava Dambroise e pedia a renovação da bebida.
Lá fora o mar jogava-se bravo, arruinado contra as penedias, levantando pragas para o céu.
O amanhecer do terceiro dia nada trouxe de animador. O tempo recusava-se a melhorar e o sol se esquecera de voltar. O dia sem variantes arrastou-se aprisionando, numa casa de luxo, três desencontros.
Paula levantara-se, mas nem sequer tivera coragem de tocar num desjejum: voltara mais irritada a deitar-se.
- Que quer para o almoço, senhor?
- Uma omeleta de paciência, Dambroise.
O homem riu na serenidade de sua velhice.
- O senhor me permite um pequeno conselho?
- Você tem todo direito, depois de todos esses anos, meu caro.
- Se fosse o senhor teria ainda mais paciência com D. Paula.
- Mais ainda, Dambroise?
Ele meneou a cabeça tristemente. Olhou depois fixamente nos olhos.
- Ela precisa e merece toda a paciência que o senhor dispuser.
- Faremos o possível, meu amigo.
Dambroise ia se retirar, mas lembrou-se de alguma coisa.
- Vou deixar a mesinha de jogo preparada, para depois do jantar. Talvez se interesse e se distraia com um jogo de cartas.
- Pode ser uma boa idéia. Em todo caso não deixa de ser uma nova tentativa. Obrigado.
Paula não descera para almoçar e o jantar o encontrou sozinho espiando para a chuva que engrossara e batia selvagemente contra as vidraças. O mar lá fora se tornara em um contínuo grito de ameaça.
- Ela melhorou, Dambroise?
- Tomou apenas chá. Diz que descerá em meia hora. Quando saí, já escutei de novo o barulho de bebida sobre o copo...
- Se ela não descer, irei buscá-la. Ela não pode continuar assim sem que se possa fazer nada. Melhor será irmos embora amanhã cedo.
Dambroise retirou os pratos e comentou apenas:
- E esse tempo que não quer melhorar mesmo.
Mal tinha acabado de falar, e a porta do quarto de Paula abriu-se e ela apareceu descendo a escada. Tinha adquirido um equilíbrio surpreendente. Nem sequer apoiava-se no corrimão. Descia calma e seu rosto estava terrivelmente mal maquilado. Seus olhos circundados de sombras escuras pareciam maiores e mais febris.
Encaminharam-se para ela pensando ajudá-la, mas ela os evitou abrindo os braços. Encaminhou-se para a mesinha de jogo. Sentou-se e começou a embaralhar as cartas.
- Quero jogar um pouco.
Baby sentou-se à sua frente. Não tinha coragem de analisar aquela mulher que tanto amara. Ou teria amado outra mulher em vez daquela?
Paula virou-se e pediu asperamente:
- Por favor, Dambroise, mude essa música. Esse pieguismo romântico me exacerba. Ponha um concerto de Beethoven. E aumente o volume.
O homem obedeceu a ela. O som da música violentamente invadiu a sala e deu para encobrir o som do mar.
- Mais alguma coisa, madame?
Seu vulto digno postara-se atrás de Paula aguardando novas ordens.
- Traga bebida e gelo.
Continuou com os dedos finos traçando o baralho.
- Que quer você jogar?
- Qualquer coisa que irrite menos do que não jogar.
Deu o baralho para que cortasse e distribuiu onze cartas para cada um.
- Então é buraco?
- Que outro jogo você conhece com esse número de cartas? Não respondeu para evitar novas discussões e picardias. Dambroise se aproximava rodando o carrinho de bebida.
- Posso servi-la, madame?
- Não, obrigada. Ele mesmo serve. Pelo menos deve "servir" para alguma coisa.
Um rubor imenso lhe queimou o rosto. Ia de ímpeto levantar-se quando foi surpreendido por um manejar discreto dos dedos de Dambroise. Os seus olhos imploravam somente uma coisa: paciência.
Humilhado, fixou a vista nos punhos de sua camisa amarela. Pensara que usando aquela cor iria agradar pelo menos aquela noite a Paula.
Irritado jogou as cartas na mesa e principiou a servir a bebida da mulher. Nem perguntou quantas pedras de gelo ela queria. Despejou uma dose terrível de uísque. Sua paciência estava prestes a estourar-se.
- Mais alguma coisa, madame?
- Não. Obrigado, Dambroise. Pode retirar-se.
Os passos subiram a escada lentamente. Iria preparar as camas desarrumadas e em seguida recolher-se.
Sem agradecer, Paula tomou uma grande tragada da bebida. Fez um jogo e colocou-o sobre a mesa.
A música na vitrola alcançava um tema melódico violento. Tudo parecia combinar com o desalento do ambiente. Era a música, era o mar, era a impressionante chuva que não parava.
Paula parou sobre as cartas e sem desfitá-las perguntou amargamente:
- Quantos anos, Baby?
- Anos de que, Paula?
- Que estamos juntos.
- Dez anos ou um pouco mais. Ela soltou uma gargalhada nervosa.
- Por que ri?
- Por nada. Dez anos são dez anos. Muito tempo para suportar um boneco como você.
Sabia que a guerra estava recomeçada. Perdeu o seu controle há tanto tempo subjugado.
- Que pena, não?
- Você nada tem a queixar-se, querido.
Aquele querido vinha aguçado como uma ponta de arpão.
- E você o tem por acaso?
As mãos de Paula tornaram-se violentamente trêmulas. Seus olhos pareciam ter-se endurecido, ter-se enregelado dentro de grandes chispas de maldade. Apanhou o uísque e tomou um trago tão grande que quase esvaziou o copo.
- Não quer mais?
Apanhou a garrafa e encheu o copo de Paula.
- Talvez assim você diga de uma vez, tudo aquilo que vem acumulando nesses últimos tempos.
- Não precisaria beber, para tanto. Sabe de uma coisa, Baby? Cometi um grande erro. Ninguém deve ter a pretensão de pensar que pode modificar o destino dos outros.
- Filosofia das mais usadas. Ninguém precisa fazer o bem, basta que - seja bom.
- Nunca deveria ter tirado você de onde você estava. A sarjeta deixa marcas indestrutíveis.
Foi tomado de intenso nervosismo. Não tinha mais força para controlar-se. Estava farto. Não haveria gratidão no mundo que lhe desse resistência para aturar tanta humilhação.
- Basta, Paula. É melhor parar.
- Vamos parar, sim. Mas parar esclarecidos. Sobre o que pensamos a nosso respeito.
Jogou as cartas com força sobre a mesa. Seu rosto como que afilara e os olhos horrendamente mal maquilados pareciam querer saltar das órbitas.
- Você devia era ter ficado lá. No meio de suas prostitutas gordas, gigolando velhos pederastas, apodrecendo de morfina e outros tóxicos.
- Talvez tivesse um fim mais decente. Sem precisar ouvir desaforos de uma bêbada histérica.
- Isso. Agora tenho certeza de que você me odeia. Esperou que eu começasse a ficar velha para dizer-me tudo isso. Aproveitou-se de tudo. E a boba a julgar-se sempre a toujours. A que sempre esperava você enojar-se das outras mulheres. Esperando sempre com o coração e a bolsa abertos para satisfazer todos os seus caprichozinhos de macho barato.
Ele empalideceu e perguntou ironicamente:
- Que mulheres, Paula?
- Só aquela gringa que veio dos Estados Unidos, me custou uma grande despesa.
Engoliu em seco mal acreditando naquelas palavras.
- Sylvia, Paula? Você quer dizer Sylvia? Sylvia sumiu da minha vida faz mais de cinco anos. Nunca pensei que você guardasse essa mágoa escondida tanto tempo.
- Não sei; não sou obrigada também a decorar o nome de todas as mulheres ou prostitutas com quem você andou dormindo.
- Creio que de hoje em diante pouca coisa resistirá entre nós dois, Paula.
Calaram-se odiando-se naquele cruzamento de olhar selvagem.
- Que anjo cruel deve ter passado nesse instante. Um anjo vermelho com asas de fogo que destruiu tudo que existia de mais sagrado entre nós dois.
- Pura e idiota literatura!
- Então nada mais há a discutir.
- Existe sim, meu caro Leonardo da Vinci. Não perdi tantos anos da minha vida para que você se divertisse comigo apenas. Também levo o meu lado de vantagem nessa história. O lado pitoresco. O outro lado gozado da história onde o Pigmalião sou eu. Pensei criar um ser, um artista e me enganei. Porque realmente Você é um produto das minhas infinitas imaginações. Fui eu quem fez você, quem o descobriu, quem o impingiu no mundo artístico, ou pensa que não?
Gritou alucinada:
- Dambroise! Dambroise! Desça imediatamente para me ajudar.
O homem desceu a escadaria às carreiras. Vinha vestindo um robe-de-chambre sobre o pijama. Os cabelos estavam em desalinho.
- Dambroise, eu quero imediatamente que você nos acompanhe até o porão. Apanhe as chaves e vamos lá agora mesmo.
Acompanharam as escadarias onde Dambroise ia acendendo a luz. A crueldade fazia com que Paula descesse os degraus, encontrando um equilíbrio que não condizia bem com a dose de álcool ingerida.
- Pronto, meu caro e consagrado artista. Esse quarto dirá mais a você do que tudo que eu quisesse dizer.
Dambroise abriu a porta e acendeu a luz. Baby arremeteu-se tremendo para dentro do compartimento.
Havia uma infinidade de quadros seus. Eram quase todos comprados em várias exposições. Sentiu o suor escorrer por todo corpo. A fronte latejou-lhe doridamente. As pernas enfraqueceram-se e foi obrigado a sentar-se junto de dezenas de quadros seus amontoados.
- Bonito o artista e sua obra juntinhos. No limiar da glória. Fui eu que o fiz: eu quem adquiriu todos os seus medíocres trabalhos, usava o nome de minhas amigas para dar a ilusão de que você era muito requestado. Você vai me deixar porque estou velha. Vai me odiar porque a verdade é essa. Agora estamos quites. Cobrei bem caro os meus dez anos de vida jogados fora.
Deixou o rapaz abandonado no seu desespero e voltou acompanhada de Dambroise a subir as escadas lentamente.
Quando se sentiu sozinha começou a soluçar baixinho, apoiando a cabeça em seus joelhos. Nem sabia o que pensar. Nem por onde principiar a pensar. Fora desferido em sua vida, em seu futuro, na crença sobre a humanidade, o mais terrível golpe de destruição. Doía-lhe o estômago de tanto nojo que nascia contra os seus semelhantes. Não sabia se odiava mais Paula do que sentia asco: tanta ternura perdida inutilmente. Tanta bondade cultivada em seu coração que se esboroava contra uma parede de nada.
Depois somente as lágrimas deslizavam grossas e pingavam pelo pescoço atingindo a gola da bela camisa amarela. Somente a morte poderia pôr fim a tamanha desilusão. Somente a morte existia de verdadeiro no homem. Sincera e indissolúvel.
Foi despertado do seu transe de dor pela mão amiga de Dambroise sobre seus ombros. Ele ajudou-o a erguer-se e lhe ofereceu um lenço para apagar do seu rosto o vinco das lágrimas.
- Que tristeza meu amigo! Tome. Beba esse copo de conhaque que só poderá lhe criar um pouco de ânimo.
- Você sabiá, Dambroise, de tudo que iria se passar? Você tinha conhecimento de tudo que existia dentro desse porão?
- Não poderia contar a verdade sobre qualquer coisa, senhor. Só lamento que tudo isso tenha assim acontecido. Bem que o preveni que deveria ter muito mais paciência com D. Paula...
- De agora em diante, não precisarei ter paciência com pessoa alguma.
Começou a chorar novamente e procurou proteção, escondendo o rosto no peito de Dambroise.
- Tudo isso passa. Amanhã tudo se esclarece. Tudo se resolve. O álcool e o nervosismo são a causa do que aconteceu.
- Não. Nada disso me acontecerá duas vezes na vida. Como pode a mesma pessoa, numa mesma desgraçada vida, ter amado só duas mulheres e justamente essas duas serem loucas?
Afastou-se de Dambroise e bebeu o resto do conhaque.
- Você tem capa aqui embaixo, Dambroise?
- Está na copa. Mas o senhor não vai querer sair com uma chuva dessas. É loucura.
- Você pode me emprestar algum dinheiro? Em São Paulo lhe devolverei tudo.
- Pense um instante antes de agir assim. O senhor precisa ter mais paciência com D. Paula. Ela está muito nervosa.
- Nunca mais subirei essas escadas. Se o fizesse teria perdido na vida todo significado de honra e de pudor. Por favor a capa, Dambroise. No meu quarto, isto é, no quarto que eu dormia tem uma capa impermeável azul enxadrezada. É francesa. Você pode ficar com ela. As coisas que foram minhas, por favor envie para um leprosário.
O homem subiu os degraus e voltou com a capa e o dinheiro.
- Obrigado, amigo.
O seu rosto nobre tinha-se vestido de pesar.
- Não quer pensar mais uma vez? O senhor devia... devia ter ainda mais paciência com Dona Paula.
- Nunca. Até a gratidão tem um certo limite. Aquela mulher só verá o meu rosto depois de morto. Morto de olhos fechados, tal como quando ouvi sua voz pela primeira vez. Tal como idiota acreditei que ela me procurava desde que a primeira estrela foi criada.
Vestiu a capa e enfiou o dinheiro no bolso.
- Onde vai nesse temporal todo, moço?
- Talvez a chuva me faça bem. Esfrie a descrença do meu coração. Em todo caso, meu amigo, muito obrigado por tudo.
Ia sair quando recordou-se de uma coisa.
- Seria melhor que na volta você mesmo tomasse a direção do carro.
- Prometo que ela não guiará.
Saiu entre a lufada de vento e desapareceu na noite molhada. Dambroise ficou recebendo a chuva pelo corpo, olhando o escuro que devorara a silhueta do rapaz.
Fechou a porta, alisou os cabelos molhados e subiu lentamente os degraus e dirigiu-se para o outro quarto, porque sabia que Paula não se encontrava no seu.
Paula estava encostada na vidraça. Seu rosto magro colava-se no frio do vidro, como se quisesse que a chuva de fora lhe lavasse o rosto ensopado de lágrimas.
- Ele se foi.
- Eu vi, Dambroise.
Calaram-se um instante e ela murmurou:
- Como ele estava lindo naquela camisa amarela. Meu Deus! Nós não somos nada nessa vida.
Jogou-se na cama e cheirou as cobertas tentando lembrar-se do perfume do seu corpo, tão viril, tão másculo.
Abriu a gaveta da mesinha e pôs-se a apalpar os isqueiros. Trouxe um de ouro entre os dedos.
Esse era o que ele mais gostava.
Com as pontas das unhas tentou inutilmente apagar as letras gravadas ali.
Começou a soluçar sem exageros.
- Por que tive que fazer tudo isso, Dambroise? Não foi maldade, você sabe. Eu tinha que fazer assim, para que ele partisse me odiando. Era preciso que me odiasse com toda imensidão do seu honesto ódio.
Voltou-se para o mordomo e falou engolindo lágrimas:
- Como ele estava lindo, Dambroise. Lindo, lindo naquela camisa amarela.
Queria sumir, sumir, doer-se e tentar esquecer. E quanto mais depressa melhor. Deixar São Paulo longe, com os seus milhões de habitantes caminhando apressados, sem tomar conhecimento da dor alheia.
O índio falou forte e o desejo da selva o chamava com força. Antes dele, quase que imediatamente, como se já estivesse esperando aquele desenlace, soubera por Gema que Paula partira com a Lady Senhora para Paris. Paris era a sua selva. Selva de rendas, de vinhos, de exposições, de modas, de repuxos, de perfumes caros, de noitadas alegres, de teatro e cabarés esfumaçados... Tudo isso poderia até fazer bem a Paula.
Não queria pensar, mas uma ponta de dor permanecia viva e atuante. Não se conformava que uma mulher pudesse ter tamanha capacidade de destruir uma pessoa. Que partisse indiferente a dez anos de vida conjunta. Dez anos de tantas promessas e ternuras falsas, perdidas, apodrecidas...
Com o coração prenhe de desilusões e desprezo pela imundície humana, arrecadou o dinheirinho que guardava nos bancos, vendeu uma porção de coisas de valor, endividou-se em alguns empréstimos e partiu rumo a Goiânia. Lá conversaria com o pessoal da FAB e arranjaria uma carona até o Xingu onde enterraria as tristezas e mágoas, sentindo-se talvez reviver com a seiva e o húmus que proviriam da selva impenetrável. O Xingu onde Sylvia tivera verdadeira fascinação e onde também começara a descobrir os sintomas de sua doença ou os primeiros vislumbres de sua farsa e mentiras. Mas pelo menos o Xingu de Sylvia era uma confirmação de amor a seu feitio. Era errado, mas uma causa em desespero por amor.
De Goiânia ao Xingu não teve dificuldade, e uma manhã antes que o relógio alcançasse o meio-dia, o beechcraft rodeava o campo procurando pouso.
Foi recebido por muitos braços, roçado em muito corpo bronzeado e nu, que lhe desejava as boas chegadas.
Estavam admirados como Abo envelhecera nos anos que não mais voltara ali. Mostravam isso apontando os seus cabelos brancos que se avolumavam nas têmporas.
- Cadê Orlando? Quem está tomando conta do Posto?
- Orlando. Cláudio está Diauarum.
Caminhou com os comandantes do avião até o Posto. índios, quer mulheres, quer homens mostravam meninos que começavam a andar e outros que já se achavam bastante parrudinhos.
- Esse é meu filho.
- É muito catu.
- Esse é meu, Abó não conhecia.
Pegava o garoto no colo e acariciava-lhe a cabeça, encostando o rosto da criança no seu, numa tentativa de ternura perdida.
Orlando veio ao encontro de todos. Abraçou os amigos aviadores e observou o companheiro ausente que voltava após tantos anos.
- Voltou aqui para rezar o seu padre-nosso especial?
Era o mesmo homem. O mesmo sorriso simpático. A mesma bar-bicha o mesmo short, o mesmo chapeuzinho de soldado deixando sempre escapar uma mecha de cabelo escorrido.
Abraçaram-se comovidos.
- Quanto tempo você vai ficar com a gente?
- Se você quiser aceitar meus humildes préstimos em troca de um rico prato de abóbora?!...
Os índios vieram entrando com a sua mala e as suas sacolas. Falou-lhes com simpatia.
- Pouca coisa amigos. Bola para as crianças, anzóis e uns cacarecos de que vocês vão gostar muito.
Virou-se para Orlando.
- Consegui umas amostras para a farmácia. E para você trouxe uma camisa de xadrez linda: é para usar e não para ficar no fundo do baú.
- Vamos todos tomar um cafezinho na cozinha.
Orlando acompanhou a todos amistosamente. Sentados e saboreando a bebida, Abó comentou:
- Fartura tá é sobrando. Ainda café nessa época do ano?
- Tem até uma lata de goiabada para você. Adivinhei que estava para chegar. Os anjos é que trouxeram você. Ou então foi como aquela anedota do papagaio: "nossas preces foram atendidas, irmãos"...
- E dai?
- Daí. Você chegou num momento que só Deus sabe. A verba na cidade começa a atrasar e eu preciso, na volta desse avião, já que você está aqui, viajar para o Rio imediatamente.
- Tá.
Passou a mão amigavelmente pelas costas do outro.
- Mas não fique tristinho que empresto uma coisa que você adora. Meteu a mão no bolso e jogou as chaves do cadeado da porta.
Aquela porta tão conhecida em sua vida: a da farmácia.
- Depois ainda tem um dia antes que o avião retorne: eu deixo você de molho nas águas do Tuatuari. E olhe que é negócio: as chuvas começam a ameaçar "te o tempo quente deixa as águas do rio mais macias que costas de mulher...
E quando o avião voltou e levantou vôo para as cidades, ficou vendo a partida de Orlando como sempre sorrindo para tudo. Os aviadores acenando atrás dos vidros de comando. Sentiu um vazio amargo na alma e procurou proteção, apertando os dedos com força contra as chaves enferrujadas da farmácia.
Orlando fazia sinal com a mão, dizendo que não demoraria mais que um mês.
Quando o avião silenciou, os índios se dispersaram, a fumaça de poeira se dissipou, ele retornou à sua paisagem calma: vários ranchos menores arredondados em torno de dois maiores: o rancho de moradia do Posto e o rancho-hospital onde ficava a farmácia, os grandes pés de jatobá arredondando também a selva e no fundo o Rio Tuatuari com suas águas alvas e transparentes serpeando mudo, descendo em busca das águas escuras dos rios Kuluente.
- Agora, Abóbora, meu frei. Toca a recomeçar tudo; esquece essa tristeza besta e enche o coração de selva amiga.
Mal caminhara dois passos quando foi alcançado por Kalukumá.
- Voltou, Abó?
- Voltei.
- Então a gente vai cantar e vai brincar muito?
O homem nu, alegre e forte a seu lado poderia beirar no máximo os quarenta anos.
- Vamos sim. Vamos brincar muito.
Lembrava-se que antigamente era brincando que fazia os curativos nas crianças. Para que elas se distraíssem do tanto que ia doer.
E vieram as grandes chuvas que encharcaram tudo. Com ela, as primeiras febres e a invasão de muriçocas. As noites eram quentes e abafadas, dentro dos mosquiteiros. A umidade estragava até as pilhas das lanternas.
Passava o dia penetrando nos ranchos, esperando doentes que chegassem das aldeias longínquas para tratá-los. Os comprimidos de Aralém iam sumindo dos vidros. Trabalhava de manhã até a noite para cansar o corpo e descansar a alma. Nada mais de pensamentos nem saudades. O tempo já rolara mais de um mês e Orlando não voltara ainda. Deus do céu, viver num fim de mundo daqueles e o governo se descuidar de uma miserabilíssima verba que mal dava para pagar as contas dos mantimentos enviados de Goiânia!...
A chuva escorria monótona pelo sapé do rancho e a criançada divertia-se como passarinhos em folga, sobre os grandes montes de areia que Orlando mandava vir lá das praias distantes para aquela finalidade.
Um índio Camaiurá chegou um dia.
- Abó, tem um menino doente lá na aldeia. Está com as pernas paradas, não anda mais. Precisa vir tratar aqui. Ou avião levar ele prá cidade.
- Por que você não o trouxe?
- Não é nada meu. Nem meu parente.
- Que tamanho tem?
Mostrou com a mão a altura do menino.
- Como chama?
- Itaculu.
- Os parentes dele não trazem?
- Não tem ninguém. Mora no rancho de Uacucumã. Ninguém traz não. Têm medo. Diz que é feitiço.
- Amanhã vou lá buscar.
- Vai no jipe?
- Não. Jipe nicatuité. Mesmo Abó não sabe lidar ele.
- Vou pescar. Já falei.
- Sim, obrigado. Traz um piau pra mim.
- Trago sim, Abó.
Nessa noite deitou-se mais cedo e ficou embalando a rede esperando que o sono surgisse a qualquer momento. Cocou as palmas das mãos e sentiu a nodosidade dos calos. Ali tinha que fazer de tudo; dar uma mão na roça, rachar um pouco de lenha e apanhar madeira no mato. Tudo que aparecesse não podia recusar. Contudo, apesar do corpo cansado, o sono demorava a vir. Dera corda no despertador para as quatro horas da manhã. Não ignorava a distância que ia do Posto até a aldeia dos Camaiurás. Eram três léguas bem batidas e com a chuva e a lama, poderia contar a distância em dobro. Pensava na estranha força do feitiço. No medo tremendo do índio para qualquer coisa que tocasse as raias da bruxaria e do azar. Alguém numa rede, numa daquelas redes pequenas de índio, que se encontravam armadas do outro lado do grande rancho cantava uma canção de uma tristeza maravilhosa:
"Xauara pipiararê
Xauara pipiararê...
Ueru, ueru, ueru
Ueru, ueru, ueru"...
A mesma letra foi repetida três vezes e a voz calou-se. Devia ser uma cantiga aprendida com algum índio Txucarramãe quando eles estavam em tempo de caça e apareciam nomadamente, por ali, ostentando a beleza dos seus belos batoques que davam uma impressão terrível de dureza e ferocidade. Lembrou-se de Sylvia ao ser cercada pela primeira vez por um grupo de onze. Saída de Nova Iorque e recebendo aquele impacto brutal da selva...
Nem sentiu-se adormecer, quando imediatamente despertou com a campainha do despertador soando.
- Já, meu Deus?
Premiu o botão do relógio para não despertar os outros. Desceu a madrugada chuvosa até a beira do rio. Lavou-se e espantou para longe a possível preguiça que poderia acometê-lo. Achava que sua empresa se tornaria duríssima. Mas não deixaria nunca um pobrezinho paralítico ficar abandonado num canto, ameaçado de ser morto por ter adquirido a fama do feitiço.
Foi até a cozinha e procurou algo que beliscar. Aqueceu café de véspera e descobriu um taco de beiju, num prato, sendo roído por formigas. Expulsou-as do lugar e foi comer o que sobrara com o resto do café.
Quando chegasse, a aldeia já estaria amanhecendo e as velhas fazedoras de beiju lhe dariam alguns de presente, fresquinhos e perfumados.
Apanhou uma vinte-e-dois, encheu-a com oito tiros. Meteu um chapéu de palha na cabeça e encorajou-se.
- Vamos, Abó. É uma chuvinha de nada. Na volta é que vai ser osso.
Saiu, deixando os ranchos dormindo dentro da chuva. Os cães dos índios nem ladravam à sua passagem. Aquele problema estava sendo naturalmente saneado: os cães. Os índios sem ter comida para alimentar os cães, traziam-nos e soltavam os bichinhos pelo Posto. Era infernal o acúmulo deles por todo lado, produzindo uma latideira constante; além das brigas e outros prejuízos. Com a chegada das águas, as onças ilhadas se aproximavam do Posto e iam pegando os cães. Por milagre, no fim das chuvas o número deles era exatamente o necessário. E todos tinham os seus donos para cuidar deles.
A estrada era uma lameira só. Nem trouxera sapatos. Era um enfiar contínuo dos pés nas poças dágua e sentir a chuva ensopando o corpo. De vez em quando tirava o chapéu para derramar a água que se acumulava na copa. A selva reverdecida mostrava as copas de árvores iluminadas pela barra da luz de um novo dia. Mas o dia veio boiando na chuva, cumprindo sua missão dentro do tempo.
Caiu no ritmo da caminhada e perdeu noção de distância. De repente avistou no fim da trilha um ponto azulado que indicava a aproximação da lagoa do Ipavu, em cujas margens ficava uma das aldeias, senão a maior das aldeias dos Camaiurás. Agora era preciso, como diziam os caboclos que trabalhavam no Posto, ajudando na roça, vindos quase sempre do Pará: era preciso ponha reparo. Os cães nas aldeias se tornavam ferocíssimos. Teria que gritar quando mais próximo se encontrasse para que viessem esperá-lo.
Foi o que fez. Vultos nus apareceram na entrada da estrada que levava ao centro da aldeia. Fizeram uma festa danada, sobretudo aqueles que ainda não tinham visto Caia.
Saudou-os à sua maneira.
- Puericó!...
As vozes repetiram a palavra com grande alegria.
Entrou numa das casas redondas e enxugou-se da chuva. Depositou o chapéu no chão e sentou-se num tronco à guisa de banco. O rancho se encheu de rostos curiosos e ele contou o que viera fazer: contou também que estava com fome.
O capitão da tribo, Utamapu, mandou que lhe fossem servidos beijus novos. Depois de saciado o apetite, disse que precisava voltar logo porque a caminhada, como ali ninguém ignorava, era um grande estirão.de volta.
Foi conduzido a um rancho no fim do círculo das casas.
- É ali.
Entrou só, pois que os outros não queriam se aproximar da criatura tocada de feitiço. Por precaução, e sabendo que a criança deveria estar com fome, guardara dentro do chapéu molhado, um pedaço grande de beiju.
- Itaculu.
O menino riu com uma expressão de anjo doente.
- Vou levar você para o Posto. Você vai ficar bom.
- Sei sim. Abó é "papai".
- Não deram mais comida a você?
Fez um gesto com a mão indicando pouquinha coisa. Retirou o beiju de sob o chapéu e entregou à criança que começou imediatamente a comer com voracidade.
- Agora nós vamos. Eu carrego você nas costas.
Via-se à frente de um grave problema. O menino não tinha forças nas pernas e o seu corpo magro estava completamente subnutrido. Apanhou um pedaço de embira pendurado no rancho e combinou:
- Eu vou montar você nas minhas costas... Assim... agora vou amarrar seus pés em volta da minha barriga, sim?
Apertou com jeito o laço.
- Enê acupe?
Itaculu sorriu.
- Dói só pouquinho.
- Então, meu filho, vamos.
Pegou no chapéu e enfiou na cabeça do garoto.
- Agora segure bem em volta do meu pescoço. Assim. Apanhou a vinte-e-dois e agachando-se pela porta baixa saiu do
rancho recebendo a chuva que caía mais fortemente. Sorriu para os índios que se afastaram com a presença do doente e deu até logo a todos.
Voltou a pegar o caminho central da aldeia para em seguida procurar a estrada larga.
Encontravam-se já adiantados na viagem. O cansaço começava a demonstrar sua presença. O corpo leve do menino ia adquirindo volume e peso inconcebíveis. Mais ainda, porque os pés caminhando dentro dágua constante, rendiam pouco na caminhada. Logo, logo, precisaria parar para descansar. Uma das mãos sustentava a arma que também começava a pesar demasiado. A outra ficava sempre livre para poder tocar os mosquitos e afastar as ramagens da selva.
- Abó!
- Que é, meu filho?
- Você é catu.
- Não. Eu não sou bom. Eu sou nicatuité.
- Mentira. Você é bom mesmo. Você é "papai".
E querendo mostrar reconhecimento passou a mão que soltara sobre a barba comprida e sedosa de Abó. Ele sorriu, mas não deixou de recomendar:
- Segure bem, para não escorregar, Itaculu.
Marcharam mais. A respiração estava pesada no peito e as batatas das pernas ardiam grossamente. O corpo do menino sobre suas costas, apesar de toda a chuva, fazia aparecer um calor bastante incômodo. Precisava parar um pouco. Procurou o tronco de uma grande árvore e recostou a carabina. Depois com cuidado desatou o laço que prendia os pés da criança. Viu que com o balanço da caminhada os pés estavam com um vergão feio. Até que chegasse ao Posto certamente aquilo estaria sangrando. Penalizou-se porque ele, reconhecendo o sacrifício, não reclamara uma só vez.
Sentou o menino de encontro ao tronco e postou-se a seu lado.
- Abó um pouquinho cansado.
- Itaculu, não.
- Claro, seu diabinho, quem está fazendo força sou eu. Logo a gente recomeça. Levantou o pé esquerdo do garoto e teve uma idéia. Rasgou um pedaço da camisa e fez dois aparos onde deveria de novo dar o nó nos pés.
- Assim fica melhor. Não tem acupe.
Em vez de vestir a camisa, colocou-a no menino.
- Você vai precisar mais do que eu. Agora que descansamos um pouco temos de recomeçar. Não chegamos nem na metade do caminho.
Quando atingiu ao acampamento era um bagaço humano. A força de vontade é que o fazia caminhar. Nem acreditava que aquelas cumeeiras redondas pertenciam mesmo ao seu Posto. O corpo todo tremia pelo esforço empregado. A vista se encontrava meio turva. Doía-lhe a cabeça. Isso sem contar os pés que sangravam e estavam cheios de espinhos que não pudera divisar por causa das águas acumuladas que os encobriam. Faltavam duzentos metros e a arma quase escapava-lhe das mãos. O coração reclamava contra tanta energia usada. Nem respirar podia.
- Vai, Abó. Nem tem mais duzentos metros. Vinha cambaleando e começava a bufar de cansaço.
Os índios viram a sua chegada e foram socorrê-lo, apesar de todos os receios do feitiço, com medo que Abó fosse morrer ali mesmo.
Chegou-se até o monte de areia e caiu ajoelhado. Vieram em seu socorro, desataram as pernas da criança. Seguraram a arma que caíra ao chão. Enfiaram os braços sob os seus para que não caísse de borco sobre a terra. Começou a respirar aliviado e todos então repararam espantados que Abó estava chorando devagar.
Sentaram-no na areia para que descansasse um pouco. Trouxeram-lhe água e depois um pouco de café quente.
Kalukumá queria levá-lo para a rede.
Falou fracamente:
- Espere um pouco. Já estou melhor. Daqui a pouco.
Encolheu a cabeça entre os joelhos e ficou tremendo até que se recuperou. Quis levantar-se mas as pernas quase não o sustentavam.
Os índios achegavam-se para que não caísse de novo. Mas ele ensaiou uns passos e conseguiu controlar-se. Caminhou até fora da porta. Retirou as calças e postou-se debaixo de uma volumosa goteira. Só então retornou para dentro do rancho e foi procurar a rede armada. Jogou-se nela entontecido. O mosquiteiro suspenso deixava penetrar o ar do rancho.
A velha cozinheira apareceu.
- Tem um prato de comida feito em cima do fogão.
- Agora não dá. Preciso descansar um pouco. Depois... Kalukumá veio com um banquinho e sentou-se junto dos seus pés.
- Abó dorme. Kalukumá tira espinho.
A fadiga era tanta que nem sentiu a ponta da faca perfurando-lhe os pés. Dormiu profundamente.
- Chuva, chuva que chuvai... Chuva, chuva que chuvai... Cantava lá fora o sapo.
- Chuva, chuva que chuvai... Chuva, chuva que chuvai... E lá fora o sapo cantava.
O dia era chover. E a noite chovia sempre. Raros eram os estios, onde todo mundo corria para aproveitar a parada, indo até a roça recolher mandioca brava para preparar a farinha ou dar uma pescada com menos desconforto.
Chegara o tempo do piqui. As árvores se cobriam de grandes bolotas verdes. Os índios as apanhavam e esperavam amadurecer. Recolhiam as polpas e colocavam dentro de grandes cestos, afundando-os no rio para conservar mais tempo sem apodrecer. Retiravam os cestos com o passar dos dias e faziam uma espécie de refresco meio ácido.
Viera uma carta de Orlando acompanhando uma porção de gêneros alimentícios e pedindo um pouco de paciência, porque tudo estava atrasando mais do que se esperava. Perguntava se poderia ficar para o Natal pois já fazia cinco anos que não passava as festas com os seus.
Deus do céu! Já estava próximo o Natal. Devia estar mesmo porque o Tuatuari estava no máximo de sua cheia. Até suas águas, sempre tão transparentes, tinham adquirido aquela tonalidade suja e amarelecenta. Natal. Não queria lembrar-se daquela festa. Mormente dos últimos anos em que se enganara julgando-se feliz. Era o tempo dos isqueiros de Paula.
Respondeu a Orlando que ficasse o tempo que julgasse necessário. Que não tinha pressa alguma em voltar nem para que voltar.
E o tempo se arrastava inutilmente. Caindo as gotas d'água nos mesmos cantos comuns. A mesma cantiga calma entoando a monotonia das horas acorrentadas. De noite os sapos repetiam a mesma toada sem variante nenhuma.
"Chuva, chuva que chuvai..."
Todo mundo se recolhia cedo, sem saber o que fazer da noite. A luz de lamparina doía e estragava a vista de quem quisesse ler e se houvesse por acaso alguma coisa para ler.
Ficar balançando-se dentro da rede, sufocando-se sob o mosquiteiro escutando o barulho enfurecido das muriçocas que se amontoam do lado de fora, lutando a noite inteira por um buraco que não existia e nem descobriam que não existia.
Vinha alguém correndo do lado do rio. Os pés chapinhavam ruidosamente na água empoçada. Entraram no rancho e foram direito à rede de Abo.
- Depressa, Abó.
- Que foi?
- Tá chegando canoa no rio, trazendo índio Uaurá morrendo. Parece que é Menaim.
Da última vez que vira Menaim, ele era um menino alegre e preso por causa da puberdade.
Levantou-se e caminhou para a farmácia. Armou uma rede de reserva e esperou que trouxessem o doente. Que teria o moço? Gostava de ficar antigamente balançando-se na rede e conversar assim com Menaim.
- Vamos matar o sol, Menaim?
- Não. O sol é papai.
- Então vamos matar a lua?
- Lua é papai.
- O rio?
- Rio é papai.
- Então vamos matar Cláudio?
- Cláudio é papai.
- Então Orlando?
- Orlando é papai.
- Então Abó.
O menino abraçava-o e falava mais suave ainda:
- Abó, não. Abó é papai também...
Era esse Menaim, agora homem feito, que diziam estar morrendo.
Acendeu um lampião de querosene, abriu as portas do armário da farmácia e para adiantar o expediente foi colocando uma seringa a ferver.
Quando trouxeram o corpo carregado e o depositaram na rede, aproximou-se com o lampião. Reconheceu o mesmo menino de antigamente. Reconheceu também que nada mais havia a fazer. Apenas um jeito mais suave e sem dor para esperar a morte.
Disseram que ele havia três dias que vomitava sangue. Que tudo começara com uma dor muito forte. Foi só. Não sabia o que pensar. Tuberculose galopante não podia ser, porque ele não apresentava nenhum sintoma de tosse ou de catarro. Certamente uma ruptura qualquer de um órgão interno.
Com a luz do lampião aproximando, Menaim reconheceu-o e sorriu, mas foi tomando uma expressão de grande dor, no rosto, e imediatamente principiou a vomitar sangue.
Que fazer? Pobre Menaim que achava que tudo no mundo era bom e papai. O Papai Abó nada poderia fazer por ele. Procurou na farmácia uma injeção que aliviasse a dor. Iria repetindo as doses até que ele morresse.
Os olhos fundos adquiriram uma expressão de paz, sinal de que o remédio fazia efeito. Colocou um banco e ficou perto do índio. De repente ele entreabriu os olhos e segurou fracamente em sua mão.
- Abó, eu não quero morrer. Não deixa eu morrer: estou com filhinho novo. Preciso trabalhar para ele.
- Você não vai morrer. Agora vai só dormir com a injeção que Abó deu.
Realmente o pobre conseguiu dormir vinte minutos quando foi novamente acometido por outro acesso de vômito. O sangue, empastava-se na areia do chão. Muitos índios vieram em silêncio e ficaram sentados em círculo esperando o desenlace.
A angústia morava nos olhos do pai que o acompanhara: viera de tão longe, enfrentando chuva dia e noite para tentar salvar o filho e tudo resultava em nada. Logo começariam, para a felicidade dele, os estertores da agonia.
Esperou mais um pouco para aplicar outra injeção.
- Você vai dormir agora, meu filho.
Saiu um pouco. Entrou no outro rancho e foi procurar um pouco de café no bule que dormia sobre o fogão ainda morno. Depois voltou para assistir ao fim.
Sentou-se calmo e viu que a hora se aproximava. Agora ele já se encontrava em estado de coma. Estava já fora do alcance do sofrimento humano.
Viu-se menino assistindo aula de catecismo, onde prometiam que aquele que batizasse um moribundo teria assegurada a salvação da própria alma. Bastava derramar um pouco d'água sobre a cabeça do moribundo e repetir as palavras do batismo: "eu te batizo em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo".
Poderia fazer isso agora. Mas para que? O pobrezinho não poderia se desgarrar dos outros índios, com a morte. Ele deveria ir para o mesmo lugar, caçar nas grandes campinas, pescar nas lagoas azuis em companhia de seus antepassados. Não queria ter um problema de consciência. Se o batizasse pensando na salvação da própria alma, era então por interesse. Não estava agindo com amor. Então melhor seria deixar tudo a critério do próprio Deus que entendia mais das coisas que os pobres e limitados homens.
Somente quando a luz do dia aparecia, que Menaim morreu. Vieram então os choros em voz alta.
Abó voltou para o rancho onde pretendia dormir um pouco. Nem que fosse um pouco. Estava certo que os índios não só eram belos como as flores, mas que morriam com a mesma facilidade delas.
No mais, para quem era vivo, a vida continuava com a chuva. Somente agora os sapos tinham se calado para ir dormir.
Passou-se o Natal. Entrou o mês de janeiro. A chuva agora atingia ao máximo da sua grandeza. Orlando ainda não viera, mas não poderia tardar muito.
Bom que chegasse para lhe dar um pouco de descanso: o que não podia fazer comumente, por causa das águas, devia transferir para os doentes que eram muitos. A febre chegara brava e atacava quem estava por perto. Ele mesmo tivera ameaças mas cuidara-se a tempo, curando-a em três dias. Nem podia precisar quantas vezes já fora acometido de maleita. Orlando então perdera a conta. Precisava mesmo que ele voltasse, porque logo teriam que viajar pelas aldeias mais distantes para tratar de gente febril. Somente as aldeias que podiam ser atingidas por canoa. As outras ficariam ilhadas e esperariam a hora de as águas baixarem.
Às vezes lembrava-se dele mesmo e se perguntava:
- E o coração, Frei Abóbora, vai melhor? Respondia-se:
- Cada vez ficando mais calejado e mais esquecido. Não tenho muito tempo a perder comigo mesmo.
- Graças a Deus então.
- Graças a Deus mesmo.
Começara a emagrecer. A comida era realmente insuficiente. Não apenas a abóbora, mas a monotonia do feijão com arroz, com pedacinhos dosados e disputados de carne-seca, enfastiavam qualquer mortal. Raras as vezes em que aparecia um pedaço de caça. De carne nova para quebrar a passividade da comida.
Então vinha mais chuva, mais mosquito e mais febre. Um dia veio também o vulto esguio do capitão dos Meinacos.
- Como vai Adjuruá?
- Estou chegando da aldeia.
Falava um português aceitável, porque um dia fora flechado por índios bravos. Tivera que viajar para Goiânia ainda com a ponta da flecha encravada nas costas, atingindo uma parte do pulmão. Ficara alguns meses lá, deixaram-lhe uma larga e linda cicatriz nas costas que era o seu orgulho mostrar. Aprendera direitinho a falar o português. Chegando na aldeia, libertou-se das roupas, pintou o seu corpo, seus cabelos e voltou a ser índio igualzinho como antes.
- Veio de canoa?
- Vim sim.
- Muita febre por lá?
- Bastante. Você me dá remédio quando voltar para a aldeia?
- Quando volta?
- Logo que você receber meu filho doente.
- Qual?
- Marinátu, o do meio. Cachorro mordeu ele na coxa. Fez uma grande abertura. Dá prá ver até o osso.
- E onde está ele?
- Deitado na canoa.
- Homem, e o que você está esperando? Vá buscá-lo. Adjuruá obedeceu. Trouxe o menino nos braços e levou-o direto
para o rancho da farmácia.
Deitou o menino sobre uma mesa e examinou o ferimento: de fato, o estrago fora grande. Imaginava o que o demônio não deveria ter feito ao cachorro para obter tal resultado. Nem adiantava perguntar pelo bicho, porque a essa hora jacaré já devia ter comido o seu cadáver encontrado no rio.
- Não vai doer nada e mesmo você já é um rapaz.
Mas o medo se estampara no rosto de Marinátu. Para desinibi-lo correu com todos os índios da farmácia e só deixou permanecer o seu pai, junto da mesa. Trancou a porta, o que não evitou que ficassem todos espiando pelas frestas da pindaíba que fazia o rancho. A curiosidade era tanta que eles permaneceriam na chuva o tempo que fosse possível para ver um menino sendo medicado.
Desinfetou a princípio o ferimento e limpou o sangue que se coagulara em volta. Viu que Marinátu mordia os lábios de dor. Disfarçou brincando, porque sabia que a coisa iria doer muito. Falou com voz de mulher. Cantou errado, imitou gago, fingiu que se enganava e tratou da perna boa em vez da doente. Era assim que fazia com todos os meninos para que a dor não doesse demais. Eles acabavam rindo e no meio da risada, aproveitava-se para atacar um ponto mais atingido.
Conseguiu aplicar um curativo e enfaixou a perna do rapaz.
- Pronto, molóide. Agora você vai ficar deitado nessa rede, sem se mexer. Não se levanta nem para...
Adjuruá ficou preocupado.
- Abó, nem para...
- Foi o que eu disse. Quando ele precisar tem de me chamar que eu carrego.
- Vai demorar muito ficar bom, Abó?
- Uma semana. Farei vários curativos. Pode voltar para a sua aldeia que eu cuido do seu menino.
- Então eu vou e volto dentro de uma semana. Exatamente uma semana depois ele aparecia.
- Como vai o meu filho?
- Quase cicatrizado. Logo estará bom.
- Posso levar ele?
- Depende. Se você o carregar o tempo todo. Ele não poderá andar durante mais cinco dias.
- Eu carrego ele. Da canoa até meu rancho eu também carrego. Prometo que ele não anda "nem para"...
- Isso mesmo. "Nem para"... Senão a gente perde todo o meu trabalho.
- Vou aprontar a canoa. Logo venho buscar meu filho. Demorou-se dez minutos e retornou ao rancho.
Levou o filho no colo para o porto e o acomodou dentro da embarcação de casca de árvore. Lembrando-se de alguma coisa veio novamente procurar Abó.
- Eu queria uma coisa, Abó.
- Remédio?
- Não. Bala de quarenta-e-quatro.
Pronto, mexera num ponto nevrálgico. Orlando recomendara que não se mexesse em uma só daquelas balas. Só existia uma caixa e elas estavam dificílimas de se conseguir.
- Sabe que não tenho uma.
- Tem sim.
- Não tenho mesmo. Se você quiser bala de vinte-e-dois eu arranjo algumas.
Adjuruá, o capitão, ficou meio irritado.
- Que vou fazer com bala de vinte-e-dois se a minha carabina é quarenta-e-quatro?
- Pois não tenho dessas.
- Tem sim.
Tentou contornar a situação.
- Faz o seguinte, espere Orlando chegar. Ele vai trazer bala à vontade. Pode dar muitas a você.
- Eu quero agora.
- Agora eu já disse que não tenho: se tivesse eu dava.
Os olhos do índio fuzilaram de raiva. Aproximou bem seu rosto do de Abó e vociferou:
- Mentira!...
Sem que ninguém esperasse cuspiu violentamente na face do rapaz. Os dedos doeram mais do que a alma. Por um instante fechou as mãos para desferir uma série de murros na cara do índio. O coração em fogo segurou seus ímpetos.
- Pare, louco I Calma. Você não pode fazer isso. Você está aqui porque quer. Não pode agir como "ele".
Foi conseguindo se dominar mas permanecia fitando o Meinaco. O coração não parava de falar:
- Lembre-se do lema do Serviço de Proteção aos Índios: "Morrer, se preciso for. Matar, nunca". Troque as palavras assim: apanhar, se preciso for, bater nunca...
Seus lábios se entreabriram e apenas pôde responder ao insulto gaguejando:
- Está bem, Adjuruá.
Virou as costas, limpou o rosto com as mãos, onde ainda sentia doer a parte atingida pela cusparada e caminhou para fechar a farmácia. Sem querer perguntava-se se muitos missionários teriam agüentado tudo aquilo como agüentara. Não queria nem pensar em gratidão. Sorriu um pouco desgostoso, porque sabia que passados quinze dias, Adjuruá estaria de volta e falaria com ele na maior das naturalidades:
- Pitsu pái, Abó.
Ele então, esquecido de tudo, se fosse possível, responderia à saudação:
- Nátu pái.
Seria então abraçado como de costume e teria de escutar a frase carinhosa dos Meinacos:
- Auixe pái, Abó.
- Auixe pái, Adjuruá.
Estariam se dizendo então o quanto se admiravam e se queriam.
Janeiro se foi molhado. Orlando voltou. Fevereiro passou depressa. Março chegou diminuindo a chuva e abril apresentou o sol: mais sol, muito mais sol do que chuva. E quando maio viesse, o frio começaria a bela época das secas e do verão.
Foi então que se deu conta de quanto emagrecera e quão longa e avermelhada se tornara a sua barba.
- Sabe do que mais Orlando?
- Sei.
- Então não preciso falar.
- Fale assim mesmo.
- Já adivinhou que estou danado de cansado desse Xingu miserável?
- Quer dar uma voltinha, não?
- Isso mesmo.
- Está ansioso para molhar o biscoito, não? Riram-se amigavelmente da piada.
- Você volta quando?
- Logo que puder.
- Então boa viagem.
No avião de volta a Goiânia e logo no dia seguinte, se a sorte favorecesse e nenhuma pane desse o sinal da sua graça, chegaria cedo a São Paulo. Pôs-se a pensar friamente em seus velhos problemas e anseios. Podia agora analisar-se sem paixões e autopiedade.
Possivelmente sentiria um abalo um pouco maior do que das outras vezes que retornava. A selva, o silêncio, a igualdade comum de todos os dias provocava esse choque. A diferença tornava-se estúpida. O ruído dos carros, ônibus, bondes. O vaivém contínuo de gente se encontrando, se esbarrando, se desviando, tornava-o naturalmente nervoso.
Enfim pôde encontrar-se com as outras chaves que não eram as da farmácia na mão. Sentiu os dedos trêmulos ao girar a chave na fechadura do seu apartamento. Criou coragem para enfrentar as sombras de algum fantasma que ainda perdurasse por ali.
Afastou as cortinas e acendeu a luz. A pessoa que deixara encarregada da limpeza, não deveria ter trabalhado muito bem na sua ausência.
- Faz favor, ponham tudo naquele canto.
Falava ao zelador e ao chofer que vieram para ajudar a transportar os seus materiais de índios e sua minúscula bagagem.
Pagou o chofer e agradeceu ao zelador. Fechou a porta e afundou-se numa cadeira observando o abandono do ambiente. Pó existia desde o telefone até os móveis e tapetes. Teve ímpeto de telefonar para Gema para saber como estava.
- Ainda não, Frei Abóbora. Que pressa é essa?
- Você tem razão, coração. Primeiro um pouco de ordem. Depois um banho.
Entrou no quarto e abriu as janelas. Sacudiu as roupas de cama e retirou-as. O encarregado da limpeza nem sequer retirara os lençóis e a colcha que se encontravam amarelecidos de abandono. Jogou tudo no chão e bateu no colchão para aliviá-lo um pouco do cheiro de mofo. Cinco meses e pouco e aquela desordem toda.
No armário as roupas tinham adquirido manchas de bolor. Deixou as portas entreabertas para arejar. Apanhou na gaveta da cômoda novas cobertas para a cama. Sentia na verdade vontade de dormir um pouco. Dormindo já começaria a acostumar os ouvidos com a barulheira envolvente da cidade. Arrumou a cama e sentou-se. Queria olhar o ambiente como ele era. Ver a realidade do que existia, nada mais. Nada de descobrir intenções ou resquícios de saudade. Tirou os sapatos. Jogou o paletó sobre um sofá. Deitado mesmo retirou a camisa, a calça e a cueca. Sentiu-se nu e com um certo friozinho que o ambiente fechado acumulara. Mesmo porque a selva ainda se encontrava muito quente em comparação com os primeiros sopros de inverno que já ameaçavam São Paulo.
Depois então levantou-se e foi pôr um banho morno a escorrer. Sempre achara gostoso aquilo. Afundar-se num belo banho quente, para esquecer o desconforto da selva. Voltou ao quarto para procurar um pijama que guardasse um pouco menos o cheiro de coisa escondida há muito tempo. Descobriu um daqueles sabonetes que antigamente batizara de sabonete de rico; sentiu-lhe o cheiro ameno e voltou a esperar o banho. Colocou todo o material de barba dentro do armarinho do banheiro e mirou-se no espelho. Realmente tinha envelhecido. Os cabelos queimados nas pontas, deixavam aparecer nas têmporas uma maré toda embranquecida. Mesmo na barba comprida os pêlos brancos começavam a invadir. Precisava antes de tudo cortar aquela mata virgem. Descobriu uma tesoura e principiou a manobra. Depois de bem aparada, foi que principiou a usar a gilete no rosto ensaboado. A parte coberta pela barba agora raspada ia oferecendo um branco azulado que destoava corri o bronzeamento arroxeado do rosto tantos meses exposto às intempéries.
Pronto: agora o banho magnífico e repousante. Fechou os olhos e mergulhou o corpo no esquecimento maior. Estranhamente, sem motivo algum, começou a pensar nas palavras do evangelho: "quem não está comigo, está contra mim"... "Não se pode servir a dois senhores"... Ficou tão assustado com os pensamentos que abriu os olhos e sorriu. Por que viera a pensar naquilo agora? Justamente numa hora de relax e passividade espiritual...
Ensaboou-se mas a frase permanecia. Permanecia a ponto de irritá-lo. O pior era não conseguir esquecê-la: parecia um disco quando quebrava e ficava girando no mesmo ponto.
Assobiou para esquecer. Mudou os pensamentos para o material que trouxera dos índios. Iria vendê-los como sempre para que o dinheiro, como das outras vezes, revertesse em benefício deles mesmos. Tinha sempre uns fregueses interessados e que pagavam bem melhor do que as casas especializadas no gênero. Uma ligeira sonolência o atacava. As horas infindas num avião pinga-pinga. O barulho da cidade e o frio tudo junto dava-lhe aquela sensação de cansaço brando.
Enxugou-se, vestiu o pijama e sentiu agradavelmente o perfume do seu corpo limpo. Agora, cama.
Quando acordou já era noite e sentia um agulhamento de fome no estômago. Acendeu a luz do abajur, espreguiçou-se e foi atacado pelo frio que sentia crescer. Era evidente que precisaria retirar mais um cobertor do armário.
O telefone. Precisava telefonar. Embora o coração o afastasse de novo daquela idéia.
Calçou os chinelos e caminhou sem pressa para o hall. Apanhou um lenço e limpou o pó do aparelho. Olhou curioso tudo aquilo que não via há meses.
Não precisou fazer grande ginástica mental para lembrar-se do número de Gema. Mas, estranhamente, antes de discar, o telefone parecia querer falar sozinho com ele, avisando-o de alguma coisa.
- São besteiras, coração. São medinhos que a gente sente até rever os amigos quando chega da selva. A gente fica protelando, protelando...
Discou o número com o indicador e esperou: A essa hora Gema já viera do trabalho e se não tivesse algum compromisso para jantar, estaria voando para atender ao chamado. Acertara nos cálculos.
Escutou do outro lado a voz tão amiga. Disfarçou a sua e pediu o número. Depois ainda gozando a grande surpresa que Gema ia ter, perguntou se ela podia atender.
- Ah! Então é Dona Gema quem está falando mesmo? Ela apresentou na voz um começo de irritação.
- Aqui é o Roberval.
Dera de propósito um nome de um antigo fã que ela detestava. Não se conteve mais e soltou uma gargalhada gostosa.
- Adivinhe quem é?
A voz veio cheia de felicidade, misturada com saudades e ternura: um pout-pourri de amizade.
- Boneco! Você! Quando chegou? Estava morrendo de saudades. Quando vem me ver?
- Cheguei e breve vou ver você.
- Quanto tempo, querido. Ninguém sabia nada de você.
- Estava fechado na selva, sem contacto com a vida.
- Como você está?
Aquela pergunta fora feita de um modo estranho e muito significativo.
- Magro, mais magro. Embranquecendo, bastante queimado, que mais?
- Você vem me ver logo? Não quer jantar comigo agora?
- Nem hoje e nem amanhã. Sobra mais tempo ainda para você acumular um pouco de saudade.
- Eu precisava que você viesse mesmo me ver, já!...
- Não, Gemoca. Hoje e amanhã não poderei mesmo, embora esteja louco para isso.
- Nem mesmo implorando?
- Nem assim. Por quê?
- Precisava saber de uma coisa.
- Diga pelo telefone.
- Então você não vem mesmo?
- Decididamente não posso. Pode falar o que quer que seja.
- Se o prefere assim...
A voz de Gema tinha mudado de expressão. Adquirira uma gama de tristeza.
- Somos amigos, não somos?
- Que dúvida!
- Posso então perguntar?
- Claro. Por que tanto mistério?
- Você soube alguma coisa de Paula?
- Nada. Você é a primeira pessoa a quem falo.
- Nada mesmo?
- Juro.
- Pois então agüente o choque, mas preciso como amiga sua, lhe comunicar.
Fez uma pequena pausa cheia de angústia.
- Paula morreu.
- Não!...
As mãos principiaram a suar no telefone.
- Morreu em Paris, há duas semanas. Sexta-feira foi a sua missa de sétimo dia.
Os músculos do pescoço estavam enrijecendo e uma dor aguda espicaçava-lhe o âmago do coração.
A voz de Gema parecia falar da eternidade.
- Ela morreu...
Queria não escutar aquilo. Queria enforcar a humanidade na corda do telefone. Nem havia lágrimas nos seus olhos tal a dureza da notícia. Ficou com o telefone preso ao ouvido, como se estivesse carregando na mão e encostando no rosto a alça de um caixão mortuário.
A voz de Gema continuava:
- Querido... Querido...
A emoção a dominava também.
- Você está escutando. Eu não queria lhe dar essa notícia assim. Apertou a testa com a mão livre e pôde falar.
- Fez bem em me dizer.
- Que está sentindo, querido? Queria tanto estar agora a seu lado.
- Por enquanto, Gema estou meio anestesiado mas vou querer ficar só. Você compreende. Acho que mais tarde eu vou chorar.
Não pôde dizer mais nada. Nem responder ao até logo da amiga.
Ficou parado longo tempo e teve a exata impressão que caminhava num pomar imenso, cheio de grandes e amadurecidas goiabeiras. E o cheiro das frutas maduras invadiam todo o seu ser, asfixiando-o num começo de soluço. E o soluço provocava uma invasão de desgraçadas lágrimas em seus olhos.
TERCEIRA PARTE - As Tartarugas
Primeiro Capítulo - A Calúnia
Sentiu o olhar da enfermeira analisando o seu tipo. De alto a baixo. Sem perder nada de cada detalhe que lhe parecia estranho. Sabia que não estava bem vestido, que suas roupas se resumiam apenas numa camisa cinza de tecido inferior, que suas calças não passavam de um blue-jeans com um azul-escuro de há muito transformado em cor de olhos do céu. As botas pretas, certamente deveriam ser engraxadas, mas não o foram. Tentou disfarçar o seu modo de ser, ensaiando um sorriso mais que humano.
- Podia falar com o Dr. Chiara.
- Se é consulta, são quatro mil cruzeiros.
- Não. Não é consulta. Se tivesse quatro mil cruzeiros me casava.
- É assunto particular?
- Por favor, diga que é o Frei Abóbora. A moça arregalou os olhos.
- Frei o quê?
- Frei Abóbora mesmo. Sou parente dele.
A moça entrou meio desconfiada e Ab olhou em volta dos clientes, à espera. Na maioria eram representantes de laboratórios, sempre de pastas e muito falantes. Duas mulheres pobres, por certo doentes, de graça. Não tomava jeito aquele homem. Com clientes assim, não ganharia nem para a gasolina do carro. Sendo um dos maiores ortopedistas de São Paulo! Era bonito não ligar para dinheiro. Sabia-o sócio de um hospital e muito do que deveria ganhar se resumia num mínimo, porque sempre hospitalizava doentes pobres e descontava da sua conta-corrente. Bonito aquilo. Olhar seu rosto calmo iria lhe fazer muito bem agora. Mas Ab não se pôde demorar muito nos pensamentos, porque a porta abriu-se saiu uma cliente feia e a figura do Doutor apareceu completamente na porta.
Estendeu-lhe a mão e aceitou um abraço.
- A enfermeira pensou que você fosse doido.
- Também, não pára enfermeira aqui.
- Quem manda você aparecer só de quatro em quatro anos. Mulher em geral gosta de se casar. Entre.
Sentou-se perto da mesa. Dr. Chiara aboletou-se na cadeira de molas por trás da mesa. Imediatamente pegou no martelinho de reflexos e ficou tamborilando o centro da mão esquerda.
- Por favor, pare com isso. Meu velho quando me levava ao consultório para me dar as broncas, fazia a mesma coisa.
Jogou o martelinho sobre a mesa. E ficaram os dois se analisando. Observando-se mutuamente. Contando o acúmulo de estragos que o tempo fez num rosto no espaço de quatro anos. Riram-se ao mesmo tempo porque qualquer um dos dois faria o comentário se falassem.
- Estamos ficando velhos!
- Se estamos.
- E a vida?
- A luta de sempre. Como você dizia antigamente. Viver é dor. Hospital de manhã, consultório à tarde, IAPTEC à tardinha, um cliente que aparece à noite. E a sua vida?
- A mesma de sempre. Mato, mosquito, bugre e regime. Cidade e esmola. E agora um cansaço meio esquisito. Talvez fruto da vecchiaia mesmo. Dr. Afonso, meu caro e velho amigo, desconfio que não estou muito bom.
- Deve ser alguma coisa, por dois motivos: porque vaso bom não quebra e segundo para você visitar um médico sem ser para pedir amostras grátis...
Riram-se.
- Não. Quero o médico e depois você não escapa, amostra também.
- Tenho uma gaveta cheia de coisas para você.
Então requisitou a seriedade de quem vai ver um cliente.
- Não. Não faça essa pose porque senão eu fico com medo.
- Besteira, vamos falar sério; o que é que há? Sempre aquela voz doce e amiga.
- Uma dorzinha meio fina que me sobe aqui pelo ombro direito, um cansaço que às vezes parece ser do outro mundo. E uma dormenciazinha esquisita, chata, aqui na mão esquerda. Às vezes até o relógio incomoda.
- Só do lado esquerdo?
- Só.
- Vamos para outra sala. Abriu outra porta.
- Tire a camisa.
Inspecionou as costas queimadas de Ab. Fê-lo virar-se de frente.
- Pelo que vejo as costelas estão em ordem. Que foi isso? Fome ou promessa?
- Dureza, meu velho. Dureza.
Afonso examinou-lhe o fígado, estômago, auscultou-lhe o coração, pulmão, tirou pressão e conservou-se calado. E foi calado que se encaminhou para a sala e foi sentar-se atrás da mesa. A seriedade continuava morando em seu semblante.
Ab voltou, acabando de ajeitar a camisa.
- Então doutor?
- Você tem feito muito esforço ultimamente?
- Pombal Se isso é pergunta que se faça. Dei uma remada agora, há dois meses, no velho Araguaia que pensei que fosse estourar. Estava tão enfraquecido que parecia remar o corpo e não a canoa.
- Você tem bebido? Digamos, bebido bastante?
- Muito até. Antigamente conseguia atravessar os meus períodos de selva, "incólume". Hoje é outra coisa. Tudo mudou: aliás, eu mudei.
- Há quanto tempo você chegou?
- Quatro dias.
- E aqui tem abusado?
- Você sabe como é que é. Encontra-se amigos, bate-se papo, comemora-se daqui, comemora-se dali e a gente vai dormir cheio.
- Sente falta de ar?
- Misturada com cansaço.
Ficou reparando o amigo. Suas expressões estavam fora do comum. Haveria alguma gravidade na certa. Afinal ele quebrou o silêncio.
- Quando você vai embora?
- Logo que negocie uma carga de material, cerâmica indígena, e
possa comprar e ganhar uma porção de bugigangas para os meus índios.
- Eu acharia melhor você fazer um eletrocardiograma. Ab deu um pulo.
- Oba! Não é caso disso.
Depois voltou à antiga posição e riu.
- Como fazer exame daquilo que a gente já não tem mais. Não Afonso, dê um jeito na coisa. Não tenho um mínimo minuto a perder.
- Isso é com você. Mas eu aconselharia. Fígado, pulmão, estômago, tudo bom. Mas o coração...
- Me arranje qualquer remédio que eu prometo que sigo à risca.
- Então abandone imediatamente fumo e álcool. Pare com o esforço físico ou diminua-o se puder.
- Os dois primeiros, ainda é possível apesar de ser duro, mas o terceiro não sei não.
- Em todo caso uma coisa é certa, se não puder sobretudo abandonar o álcool não o misture com o esforço físico. Eu não beberia durante seis meses...
Fez um abre-mão significativo como se uma bomba estourasse.
- Dá para isso, Afonso?
- Uff, se dá! Vá almoçar amanhã comigo.
- Se der, em sua casa às doze?
- Uma hora é melhor. Apertaram-se as mãos e Ab saiu.
No elevador vinha preocupado. Gravara o gesto da mão do médico. Que algo o amedrontava, não havia dúvida: deveria bater papo com os amigos nos bares, mas sem tocar num copo. Era nos bares que conseguia, conversando, ganhar muita coisa para os índios. Transportou-se para longe, sob a sombra da grande mangueira de Santa Isabel. Entardecia e ele gostava de ficar vendo chegar as canoas das pescas: sempre era a mesma beleza e calma. Ouviu que alguém se aproximava. Era o velho amigo Deridu. Nos braços trazia uma menininha limpinha, buchudinha, com os cabelos untados de óleo de babaçu.
Deridu dera-lhe boa tarde e em seguida ofereceu-lhe a filha.
- Biuikre, Toerá. Segure minha filha, que eu sei que você gosta. Colocou a criança no colo e ficou alisando suas costas.
Deridu tinha uma expressão calma e submissa.
- Você vai embora, vai?
- Logo, logo.
- Você ficou bom, Toerá?
- Quase.
- Vai para São Paulo?
- Seguramente.
Deridu fez uma pausa e Ab antecipou a certeza de que viria um pedido. Resolveu facilitar a coisa.
- Que é que você quer, Deridu?
- Sabe o que é, Toerá? Tá difícil caçar. Branco acabou com a caça da gente. Mesmo porco do mato e capivara, periquito e papagaio come a roça da gente. E eu não tenho vinte-e-dois. Você podia me trazer uma?
- Acho que não vou poder, Deridu. Estou tão pobre. Vim do Xingu e não ganhei um tostão lá. Até vendi minha carabina a um funcionário para ajudar minha viagem.
O outro ficou meio triste, mas não desanimou.
- Só uma, de um tiro. Você sabe, roça fica longe, onça anda na estrada. De vez a gente vem muito de noite e não pode matar uma onça de borduna nem de flecha... De um tiro só, Toerá.
Condoeu-se com a história.
- Mesmo assim vai ser duro.
- Olhe, Toerá, se você não me arranjar uma vinte-e-dois, eu nunca vou ter dinheiro para comprar. Eu sou muito pobre.
Apertou suavemente a criança contra o peito como para proteger-se da angústia. Aquele roçar macio deu-lhe uma nuvenzinha de esperança.
- Eu acho que não vou poder mesmo. Mas vamos fazer uma coisa. Eu não prometo mas vou fazer o possível. Se não conseguir, você não fica bravo nem zangado.
- Não fico mesmo.
- Antes assim.
- Me dê a menina. Está ficando noite e a mãe dela deve estar procurando.
Acabada a conversa Deridu propunha-se a retornar a aldeia. Andou um metro e voltou-se com um sorriso rasgado.
- Você vai trazer sim. Porque você é amigo e muito bonzinho. Riu-se do vulto se afastando.
- Chantagista!
Chantagista não era o índio e sim ele, porque com aquela história nos bares e numa livraria já conseguira quatro armas 22.
- O senhor vai subir de novo?
Deu com a cara agressiva do ascensorista.
- Desculpe. Estava tão distraído que não reparara que chegamos. Obrigado, amigo.
- Só mais um.
- Não posso.
- Não pode por que, Frei Abóbora? Daqui a pouco você se mete lá nos cafundós do judas e vai ficar sentindo saudades do cheirinho de um uísque. Só mais esse.
Virou o líquido no copo suado de frio, onde o gelo dava gorgolejos com a intromissão da bebida.
Aceitou. O argumento era bastante convincente. Logo mais, dentro de poucos dias talvez, estaria se embrenhando nos cafundós da selva como acabavam de dizer. Virou mais um uísque, mormente sendo convidado e não precisando dispor da miserabilíssima verba que possuía. De longe, entre os primeiros sintomas da alegria alcoólica, lembrou-se das palavras de Afonso. Mas ouvia de tão longe, que nem pareciam ser dirigidas a ele.
- Verdade que no mato vocês não têm disso mesmo, não é?
- Quando muito Conhaque de Alcatrão de São João da Barra.
- Mas aquilo é um nojo. É sabonete de cachorro.
- Uai! Dá prá lavar o estômago. Ensaboar pelo menos. Você acha que a gente pode estar escolhendo muito num lugar daqueles?
- E pinga?
- Pinga sempre aparece. Pinga e Sírio chegam antes de qualquer pessoa em qualquer brenha ou fundão desses Brasis.
Estava com a língua solta. Numa alegria poucas vezes vista.
Começaram a formar roda em volta da sua pessoa. Não era sempre que aparecia a oportunidade de se conversar com um sertanista. Mormente ele que sempre se mostrara reservado e taciturno.
Chegou um senhor de meia-idade e de cabelos grisalhos. Foi convidado .a sentar-se entre eles.
- Conhece o nosso Frei Abóbora? Sertanista de quatro costados. Disseram o nome do jornalista e apertou a sua mão.
- Mais outro? Só mais um. Aproveite homem, que amanhã essa sopa se acaba.
Agora não tinha mais força para censurar-se. Aceitou. E a língua foi ficando solta e conversadeira. Quiseram saber dos índios.
Momentaneamente se constrangeu um pouco, deixando perpassar uma tristeza. Deu de ombros como se nada pudesse resolver ou reconhecesse o inútil de toda a sua dedicação.
- O próprio Brasil se encarrega de acabar com eles. Ou dando-lhes de graça a doença ou distribuindo a derrocada da pinga. Pode ser que escape algum desse roldão, se continuarem na conservação do Parque do Xingu. Aí, sim, há uma esperança.
- Qual é o ponto de maior permanência sua?
- Sempre faço o meu quartel-general no Bananal. Ali já foi um lugar adorável. A gente trabalhou pela saúde dos índios para conservar tudo de autêntico e folclórico que ainda subsistia. Um dia... Apareceu um presidente-sorridente, o presidente que melhor soube gastar o sangue dos pobres. Naquela exuberância de nababo invadiu o Bananal e numa região reservada ao S. P. I. colocou, a seu bel-prazer, a Fundação Brasil Central. Êta mundo louco! Duas entidades que nunca se viram com bons olhos e até há bem pouco tempo eram inimigas íntimas: porque tratavam de assuntos bem semelhantes.
Notou que o jornalista de cabelos brancos não estava gostando muito da história. Mas a língua estava mesmo solta.
- Pois bem: o presidente-sorridente foi lá e bumba! Invadiu. Invadiu e desrespeitou até a parte religiosa do índio. Levou um violonista célebre na sua bagagem e ao som de ritmo alegre incitou os índios a dançarem o Aruanã em compasso de samba. Era o "papai grande" dos trouxas. Então levantou a varinha mágica do desperdício.
Faça-se um hotel. Um hospital. Um campo para aterrissar até aviões a jato com três mil e duzentos passageiros, oba! Dinheiro dos outros é fácil. Vamos chamar isso de progresso. E pronto quatrocentos milhões de cruzeiros arremessados fora. Querem ver, vão lá. Tudo caindo aos pedaços e chovendo dentro. E junto àquela miséria de ouro, a gente tinha cem mil cruzeiros por ano para sustentar um pobre posto de índio, que se tornara, com a invasão, um centro falso de turismo governamental. Os aviões iam cheios para o fim-de-semana. O povo é rico! Dinheiro fácil. Vão lá e vejam. O pobre do índio empregado na construção das obras e ganhando um dinheiro que nunca vira, modificou o padrão econômico de vida. Pensava que aquilo não acabava nunca. Vão lá e vejam o abandono, a nudez, a sujeira e a cachaça tão bem distribuída e aprendida...
Alguém se lembrou de indagar sobre a Belém-Brasília.
- Será daqui a duzentos anos uma coisa formidável! Mas não pensem que foi obra do presidente-sorridente, não. Meu velho, eu tenho vinte e seis anos de selva. Já fiz bodas de prata de mosquitos e febre. Aquilo já existia. Era fácil fazer cartaz para quem estava fora. Evidente que não existia a Belém-Brasília, porque Brasília não fora criada. Todo mundo no sertão viajou naquelas estradas que iam a Belém, no alto Tocantins, meu São Jesus do carneirinho nas costas. Mas viajou como se viaja hoje. Verdade que deram um pouco de alargamento em alguns trechos. Verdade sim. Mas tente viajar de dezembro até março. Vão lá e voltem com coragem de elogiar os meus caros repórteres que fizeram tal viagem em tempo de seca e poeira. Filhos, se agora é que começaram a fazer a segunda pista na estrada Presidente Dutra e é aqui nas barbas da gente! É duro conservar as coisas próximas, imagine-se por lá. O tempo sim, o calmo tempo com lógica e paciência desenvolverá essa estrada que será uma maravilha de ligação entre as gentes. Violência e farol não adiantam, porque você não poderá vencer a luta contra um clima ingrato. Você não pode, pelo menos ainda, parar a chuva que desce na época marcada sobre a selva... Estavam dando corda à sua língua solta.
- E Brasília?
- Por que querem saber? Vocês todos conhecem a verdade sobre tudo. A verdade que cada um interpreta a seu modo, mas conhecem...
- Mas sempre é bom a gente ouvir de uma pessoa que por lá vive continuamente. Diga a sua opinião sobre Brasília.
- Verdadeiramente Brasília é uma maravilha de arrojo e audácia. Está feita e não tem culpa de como foi feita. Foi o maior garimpo do Brasil durante a sua construção. Ninguém pode aprovar a roubalheira de que foi cercada. Isso ninguém. Mas tem-se a obrigação de aprovar a obra que está feita. Não se pode voltar atrás. Mas se se pudesse emborcar os bancos da Suíça, Deus do céu, quanto roubo apareceria em contas cifradas. E tudo veio de Brasília que não tem culpa de nada.
Pela primeira vez o jornalista se manifestou. Tinha um riso sarcástico no rosto e a voz melíflua.
- Gostaria de escrever um artigo sobre o nosso amigo Frei Abóbora. Vou aproveitar a oportunidade e telefonar ao jornal pedindo que aqui venha um repórter, isso naturalmente se o nosso amigo não se incomodar.
- Eu? Nem sei se vale a pena fazer um artigo a meu respeito. O senhor fará o que quiser. O senhor é que sabe a importância ou desimportância de tudo isto.
O jornalista ergueu-se e foi até o balcão para telefonar. Ofereceu-se cordato a pagar aquela nova rodada de uísque. Foi ele mesmo quem fez a seguinte pergunta:
- Mas o senhor não acha que o presidente-sorridente fez muita coisa de útil, referente à indústria? Principalmente a automobilística?
- Pode ter feito para o senhor, para meia dúzia de gente bem posta na vida. Foi muito mais negócio para o estrangeiro que para a gente. O pobre ficou naquela época sem alfabetização e agricultura. Agora o pobre continua sem as duas coisas e sem automóvel. Uff, que calor! Vou embora.
- Não, espere que o jornal é perto, faço questão de tirar umas fotos suas para meu artigo.
Descansou de falar e sorriu.
- Acho que disse uma porção de besteira. Mas não faz mal, muita gente antes de mim, já deve ter declarado isso, aos borbotões.
Enxugou o rosto com as mãos e mesmo sabendo que o tempo estava frio nessa época do ano em São Paulo, o álcool o avermelhava de calor. Sentia até as pernas meio bambas.
O homem com a máquina e o flash aparecera.
- Pronto, Frei Abóbora. Assim. Um sorriso. Espocou o flash.
- Agora com o copo na mão, fazendo um brinde ao futuro da selva.
Obedeceu sorrindo. Afinal não custava nada.
Tinham-lhe dado uma carta de apresentação para um cônsul estrangeiro que gostava muito de assuntos do interior. Sobretudo ao que se referia à selva. Diziam que era um homem extremamente bom, um pouco duro, mas bastante prestimoso. Usava até uma verba do seu país para finalidades filantrópicas.
Telefonara ao consulado e o diplomata já estava a par de tudo. Marcara um apontamento às três e meia da tarde. Poderia dispor de quinze minutos para atendê-lo.
Antes mesmo da hora marcada já se encaminhara para a Rua Barão de Itapetininga, o reinado de Françoise, e ficara espiando as vitrinas das lojas, fazendo hora. Encantou-se com uma loja de geladeiras onde havia uma porção de bonecos esquimós, bem barrigudinhos, vestindo roupas coloridas de lã. Pôs-se a imaginar os seus buchudinhos lindos e cor de bronze, vestidos naquilo. Bem que eles precisavam de agasalhos naquelas noites de frio de maio e junho, quando o vento que vinha do Araguaia entrava pelo chão dos ranchos de palha, enregelando tudo.
Olhou um relógio numa outra casa e faltavam ainda vinte minutos. Parou na porta da galeria onde estava situado o consulado. Ficou espiando o povo passando apressado. Cada um preso em si mesmo e num mundo desconhecido de problemas particulares.
Foi até a esquina da Rua Ipiranga, pois que ainda havia tempo. Um aleijado de muletas oferecia um prospecto qualquer. Uma das mãos sustentava um maço grande e com a outra ia oferecendo a quem passasse. A dificuldade era tanta que o pobre se apoiava na parede. Aceitou penalizado um e agradeceu. Pobre coitado! Ali estava o seu trabalho e ninguém tinha a gentileza de ajudá-lo. Saiu com o papel na mão que, logo logo, com o nervosismo que o estava atacando, foi transformado num simples canudinho e arremetido no chão.
Agora estava em cima da hora. Tinha tempo suficiente de tomar o elevador, chegar na sala e fazer-se anunciar.
Não demorou mais que um minuto para ser atendido e convidado a acompanhar uma senhora alta que falava português misturado com sua língua de origem. Ficou um segundo sentado numa saleta e de novo a moça alta retornou fazendo com que fosse introduzido no escritório oficial.
O cônsul por trás da mesa atendia um telefonema e falava interessadamente ao telefone. Fez apenas um sinal para que se sentasse numa cômoda poltrona à sua frente. Era um homem pequeno e de aspecto muito civilizado.
Baixou os olhos para o tapete achando bonitos os desenhos extravagantes. De repente seus olhos foram sentindo que estava sendo curiosamente observado. Levantou-os e deu com o cônsul o analisando. Ficou sem jeito. Ele ainda não se desgrudara do telefone mas observava o seu feitio, que por certo pareceria muito excêntrico.
O que esperava ele de um sujeito pobre que vivia enfiado na selva? A camisa de azulão estava meio desbotada, mas limpa. Arregaçara os punhos justamente para que não fosse visto que estavam se puindo. A calça era de brim barato e naturalmente amarrotada, como todo o tecido que pouco custa. O rosto bem barbeado: Sentiu um tremendo desgosto ao deparar com as botinas. Bem que podia tê-las engraxado, mas esquecera-se. Sentiu-se pequeno e miserável. Uma angústia apertava a sua garganta, obrigando-o a engolir em seco. Não sabia mais que posição tomar nem de que maneira disfarçar daquela análise. Nem sequer encontrava um modo de sorrir, porque o homem falava seriamente ao telefone e não lhe dava uma oportunidade disso. Se o fizesse talvez não fosse correspondido. Era a primeira vez que tinha uma entrevista com um diplomata. E se não o tivessem recomendado tanto, talvez nem tivesse vindo: afinal tudo seria desculpável porque não pediria para ele e sim para os pobrezinhos dos índios.
Afinal o cônsul acabou o telefonema. Colocou o fone no gancho e cruzou as mãos sobre a mesa observando-o ainda com mais severidade. Usava uma gravata borboleta e um terno finíssimo, claro e impecável. Saiu da mesa, veio para o centro da sala e sentou-se como gente que conhecia muita civilização, numa poltrona ao lado. Pediu desculpas pelo telefonema, recebeu a carta e leu-a com atenção. Ficou ainda em silêncio batendo a carta entre as palmas da mão. Só então principiou a falar.
- Já tinha tido muito boa informação a seu respeito. Mas... Aquela reticência causava um mal-estar terrível.
- Mas preciso sem dúvida conversar uns minutos com o senhor e lhe fazer umas perguntas.
- Estou às ordens, Senhor.
Não sabia se devia chamá-lo de senhor ou de Excelência.
- Quantos anos faz que trabalha com os índios?
- Vinte e poucos anos, senhor.
- Recebe algum ordenado trabalhando para alguma entidade?
- Não, senhor. Nada ganho de ninguém. A não ser que alguém queira me ajudar. Tudo que ganho destino aos meus amigos lá.
- O senhor tem alguma religião?
- Nenhuma, senhor. Só acredito em Deus.
- Então de onde vem esse seu nome de Frei Abóbora?
Sorriu e ficou mais à vontade. Muita gente gostava de perguntar aquilo.
- Por uma simples brincadeira. Apesar de não ser católico, fui educado em bases católicas. Quando chegava o entardecer, lá na região do Xingu aparecia muito mosquito. Eu ficava andando depressa e tocando-os com o chapéu. Precisava fazer alguma coisa para que aquela hora difícil logo passasse. Então resolvi rezar pelos mortos. Só pelos mortos de que eu gostava. Uma vez estava rezando o padre-nosso e no pedaço que fala de pão, parei. Como pão? se a gente não sabe o que é isso há anos? Então mudei o pão para a abóbora que realmente a gente comia cada dia. Descobriram minha oração. Depois como uso sempre o cabelo cortado curto como um missionário, me apelidaram assim.
Pela primeira vez o cônsul deu um sorriso de compreensão.
- Mas não deixa de ter uma semelhança com um missionário, o seu modo de viver.
- Talvez. Os missionários têm sempre uma melhor intenção que eu. Não espero nada do que faço, nem penso porque faço. Simplesmente porque gosto dos meus amigos e me acostumei com esse gênero de vida.
- Como eu poderia ajudá-lo?
- Arranjando roupas, fazendas. Mas não fazendas muito vagabundas, porque as minhas indiazinhas têm tão pouca roupa que precisam estar sempre lavando. Sendo fazenda barata acaba logo.
- O senhor preferiria que eu lhe desse as fazendas ou o dinheiro?
- Isso é com o senhor. Eu posso lhe dar o endereço das casas que sempre me fazem abatimento e a fazenda que eu preciso.
- Não. Caso eu me incline a ajudá-lo, lhe darei o dinheiro, porque já tenho muitas atribulações.
Ficou meio admirado. O homem ainda não se decidira completamente: ainda usava um se...
- Sou forçado pelas circunstâncias a lhe fazer umas perguntas de um certo sentido íntimo.
Não sabia porque tudo aquilo, mas já que viera até ali, era melhor esquecer-se dele e pensar nos índios.
- Pois não.
- O senhor costuma explorar os índios? Respondeu com outra pergunta.
- Tenho o aspecto de quem explora alguém?
Levantou-se para que o cônsul visse a sua figura completamente.
- Realmente o senhor tem um aspecto muito modesto. Mas não se zangue por que vou prosseguir. Gostaria de ver as suas mãos.
Não hesitou: espalmou-as para o homem.
Viu que o homem se arrepiara ao avistar tantos calos nas suas mãos grosseiras. Aqueles calos custaram anos de trabalhos pesados. Nunca tinham desaparecido dali. Quando muito eram substituídos por outros. Ninguém mesmo poderia dizer que aquelas mãos pesadas já tinham sido de artista.
- Está bem. O senhor gosta de beber?
- Gosto. Apesar do médico ter-me proibido por causa do coração. Mas não nego que às vezes na selva quando a vida está desanimadora, eu tomo os meus pilequinhos, que aliás não ofendem nem escandalizam ninguém.
- Diante dos índios?
- Não senhor: escondido, de noite, no meu rancho, ou longe da vista deles.
- O senhor tem casos com as índias?
Ficou surpreso com a pergunta, porque sempre julgara que um diplomata devera ser mais discreto.
- A verdade é que eu no começo tive meus pecadinhos. Também se desculpava, pois era então bem moço. E nessa idade o cérebro pensa menos que... Agora não, todo índio é como se fosse parte da minha família. Vi nascer muitos deles que hoje são pais e me oferecem os filhos como netinhos...
- Bem, vou parar com as perguntas e justificar porque fui obrigado a fazê-las.
Tocou uma campainha e imediatamente a mulher durona apareceu.
- Pode me trazer o jornal.
Ela saiu e voltou com o jornal como se tudo estivesse combinado antes.
Sentou-se de novo e abriu a última página do jornal. A página da sujeira humana.
- Conhece esse?
Seu retrato aparecia ampliado maldosamente. Sua expressão debochada dava a impressão de bebedeira até nos olhos congestionados. Ainda por cima o copo parecia fazer um brinde para quem lesse o jornal.
Sobre o retrato as letras grandes diziam: "FREI ABÓBORA - UM VERDADEIRO VIGARISTA."
Ali estava a razão da desconfiança do cônsul. Ali estava o formidável artigo onde o jornalista o acusava de tapeador de índios, de ganhar dinheiro negociando com os silvícolas; o deflorador de mulheres e meninas. O perigo da fala mansa para obter esmolas e vender o produto delas aos índios...
Nem acabou de ler porque os olhos se encheram d'água. Falara demais no bar e o homem era partidário do ex-presidente-sorridente... A vingança barata... A mesquinhez da humanidade nojenta...
Levantou os olhos molhados para o cônsul e comentou humilde.
- Infelizmente esse bêbado sou eu. É tudo quanto posso dizer.
- Mas como conseguiram essa fotografia, rapaz?
- Encontrei amigos num bar. Gente que não via há tempos. Resolvemos comemorar. Fiquei alegre e comentei mal um governo de um certo presidente. Havia na mesa um jornalista que era partidário dele. Eis aí a sua resposta às acusações que fiz.
Levantou-se decidido com uma tristeza de morte na alma.
- Em todo caso, muito obrigado por ter me recebido, mesmo tendo lido antes esse jornal.
A mão do cônsul prendeu o seu braço.
- Mas aonde vai, meu jovem?
- Depois disso, acho que não temos mais nada a conversar.
- Por que? Pensa que na minha longa carreira de diplomata eu também não fui alguma vez caluniado pelos jornais?
Fez com que se sentasse.
- Era minha obrigação profissional perguntar tudo aquilo: Afinal restava-me o direito de conhecê-lo e discriminar o meu julgamento. Pois a minha decisão é essa. Para mim o senhor nunca seria capaz de fazer nada do que o jornal o acusa. É o bastante.
Fitou emocionado o velho.
- Para o meu coração é o bastante. Pena que a maioria não vá pensar como o senhor.
Tocou de novo a campainha.
- Vou lhe dar um cheque como prova de minha inteira confiança. E queria que o senhor me retribuísse essa minha inteira confiança, assinando o recibo que mando já preparar: Mas só serve a sua assinatura se vier como "Frei Abóbora".
Saiu pela galeria de cabeça baixa. Com medo que todo mundo tivesse lido o jornal e o acusasse quando o descobrissem passando. Tomou a Sete de Abril, cruzou para a Telefônica e caminhou pela calçada. Apesar do presente do cônsul trazia uma revolta na alma. Se pegasse aquele jornalista... Sem notar estava parado bem defronte do prédio do jornal. Bastava atravessar a rua, apanhar o elevador e esborrachar o nariz daquele porcalhão. A raiva cresceu na alma. Foi tomado de um impulso cego e arremeteu-se pela rua, distraído...
Segundo Capítulo - O Papa-Fila
...Tão distraído que não viu um ônibus chamado: Papa-Fila.
Terceiro Capítulo - As Tartarugas
As coisas que aconteciam num hospital e que não se sabia bem explicar. Certo seria receber como continuação comum da vida. Primeiro, o abandono em que os amigos o deixavam. Nos primeiros dias quando a dor aparece selvagem, cruenta, maldita, geralmente os quartos se povoam de rostos ansiosos, de mãos que acariciam, de gestos que velam. Depois, quando não se tem necessidade de gemer porque a dor se foi lentamente, os quartos se vestem de solidão. O ouvido fica pensando distinguir passos no corredor e a maçaneta girar suave entreabrindo a porta para um sorriso amigo. E nada. Apenas a solicitude de um enfermeiro ou um copeiro que traz as refeições, ou uma irmã que arrota bondade encomendada, sondando a fragilidade ou a espessura da alma de cada um.
Pensava desritmadamente nessas coisas, porque a paciência da espera o atormentava bastante. Não carecia rememorar tudo, tudo que passara. Tudo que o trouxera até ali. Precisava apenas esperar. Sentindo o gesso pesado que ia da espinha até a pontas dos dois pés. Não podia se queixar de dor porque esta praticamente não houvera. Ficara tantos dias em estado de coma, que quando voltou, a dor era apenas uma pequena parcela incômoda. O gesso sim, esquentava, esquentava, cocava por dentro a ponto do desespero. As costas queimavam contra as cobertas por causa da sua quase imobilidade. Chamava o enfermeiro e ele fazia com que se abraçasse ao seu pescoço, suspendia-o, jogava talco sobre a cama e mudava um pouco o seu cansaço de posição. E o tempo não passava. Quando poderia tirar o trambolho branco do corpo, libertar os membros e caminhar de novo? Logo agora que adquirira tanta coisa, tanta coisa. Pensou desgostoso na calúnia, mas girou os pensamentos para outro ponto perdido qualquer que o distraísse.
O hospital também tinha coisas sádicas. Não era a primeira vez, naqueles prolongados vinte e poucos dias, que pensava nisso. Por que nos hospitais não colocam o crucifixo na cabeceira dos doentes? Fica o pobre Cristo espetado em frente aos olhos, escorrendo chagas, escorrendo dor. Devia haver imagens budistas, pacíficas, suaves, doces, naquela posição tranqüila de quem sempre espera uma oferenda, um presente. Não a imagem do crucificado, que parece querer sem querer, obrigado a comparar a sua dor com a dor pútrida dos que também sofrem.
Virou o rosto para a parede para não sentir a perseguição da imagem. Toda a vida fora aquela perseguição contínua. Um desespero de inútil. Não se prende uma alma com as garras inúteis de uma fé obrigatória. Não negava o valor intrínseco do Cristo, ao tanto de bem que fizera pelos homens, o tanto de bonito que legara aos homens, mas era só. Com sentimentos controvertidos não se constrói a intelectualidade de uma fé.
Rolou os braços desanimados. Suspendeu-os contra as grades da cama, mas imediatamente o seu nervosismo fê-los abaixar seguidamente. Estaria se crucificando em sua tortura.
Fazia calor, o dia lá fora estava azul, longe a selva estaria se agitando com o vento, desde as árvores até as águas irrequietas dos grandes rios. Esperavam por ele. E ele ali! Inútil de todo, passivamente preso a uma imobilidade que diziam passageira, mas que às vezes, adquiria uma tangente de eternidade.
Voltou os braços, distendendo-os mortos contra o corpo, alisando o gesso pesadão, grotesco, robô... Espremeu os olhos para tentar ludibriar uma pontinha de dor de cabeça. Mas nada. Ela estava ali, presente, pequena na sua existência insignificante. Abriu os olhos e ele estava ali. Permanentemente ali. Quantos meses mais teria que suportar a sua figura desesperada, inerte, dolorida, imponderável? Horas, dias, dias, horas e mais horas e mais dias...
Gemeu angustiado. De dentro do mais escuro de sua alma começava ter raiva até de Deus. Porque não era Deus que começava a enxergar. Eram elas. Elas estavam de novo ao sol, crucificadas em quatro patas inertes. Esperando a morte, sem saber quando viria. Ansiando por água, sem saber quem a traria, sonhando com a noite, sem saber quando chegaria.
Levou as mãos aos olhos, por onde se virasse encontraria com elas, emborcadas, elas semimortas de sede e do calor. Elas as tartarugas causticadas aprisionadas da inclemência e desvarios...
Os homens, os homens, eram os mesmos homens os que podiam fazer o bem, lavar-lhe o seu calor engessado, limpar as fezes que desciam entre a abertura que havia no gesso, amenizar a dor com uma simples injeção... Os homens, os homens que aprisionavam as tartarugas, que faziam a dor mais viva nos seus semelhantes, que sacrificavam os animais inocentes, tudo uma incoerência despropositada, tudo numa patética lembrança que se perdia no tempo eterno onde tinham sido feitos à imagem do próprio Deus...
Fechar os olhos. Depois abri-los. Duelar com eles contra o Cristo na parede. Virá-los para o lado e descobrir as tartarugas aprisionadas. A verdade de tudo é que elas estavam vivas, vivíssimas, movimentando as pernas, movendo as cabeças se por acaso as tocassem. Ele também podia fazer o mesmo com os braços, com a cabeça, com os olhos, mas o Cristo não. Já passara da época de uma tartaruga imolada, já morrera e se transformara num sangüíneo e torturado mito.
Foi então que antes de tomar aquela decisão que talvez desse certo, que resolveu encarar o Cristo com um pouco de piedade, com lampejos de humanidade.
Ali estava ele, uma miniatura de outros Cristos maiores, de outros Cristos mais bonitos até, até mais sensuais. Sorriu-lhe numa trégua desequilibrada e falou-lhe:
- De que merda nós somos feitos, não? Você, a tartaruga e eu. Você também teve sede, ficou exposto muitos dias: Quantos? Dizem que três. Três que se transformaram em minutos eternos. Você também teve sede e menos sorte que elas. Quando Você pediu água, embeberam uma esponja em fel, não foi? Você sofreu e acredito que tanto, tanto...
Ficou com os olhos cheios d'água.
- Mas se você era Deus como se propunha, sofreu porque quis. E se sofreu sendo Deus, era porque você não passava de um bobo sonhador e romântico. Acho que não. Seu valor humano era muito mais forte que o divino que supunham em você. Se houvesse divindade mesmo todo o seu sacrifício não significava nada. Todas as suas palavras morreriam ao vento, como as folhas secas do outono... Não fique zangado comigo porque apesar de tudo acredito em Deus e só a idéia de Deus justifica a insanidade de ser vivo...
Com a mão tateou a parede em busca da campainha. Tocou fortemente. Pouco depois aparecia David, o velho enfermeiro português, com o perene sorriso no rosto bem barbeado. O sorriso foi morrendo aos poucos ao deparar com a expressão de tristeza que existia no rosto do doente.
- Que foi meu filho?
Ficou com os olhos marejados e quase não podia falar.
Tornou a repetir a pergunta.
Ab virou o rosto e estendeu a mão indicando a parede em frente.
- É ele. Não podia David, tirá-lo defronte dos meus olhos nem que fosse por uma semana? Não precisa retirá-lo do quarto: basta que o coloquem sobre minha cabeça. Mas longe dos meus olhos.
Apertou a mão do enfermeiro que com um lenço extinguia-lhe as lágrimas do rosto.
- Por favor, David. Não custa nada. A voz com sotaque veio calmamente.
- Não posso fazer isso. Eu mesmo, não. Nunca aconteceu alguém pedir uma coisa dessas nos meus velhos anos de enfermeiro.
Cravou com força as unhas na mão do enfermeiro e suplicou:
- Isso está me matando, David. Não tenho mais nervos para suportar tanto. Faça alguma coisa por amor de Deus.
- Vou tentar fazer, meu filho. Mas não garanto nada. Fique calmo. Fique calmo que eu vou tentar.
Saiu do quarto e pouco tempo depois entrava a irmã diretora. Puxou uma cadeira e olhou-o gravemente. Ele explicou tudo. Ela apenas rodava o dedo no terço, como um vício, porque não acreditava que ninguém rezasse, tendo que lutar contra um problema.
Depois abanou a cabeça com o chapelão engomado parecendo uma gaivota gorda tentando levantar vôo.
- Isso é impossível, moço.
- Não quero que retire a cruz do meu quarto, quero apenas trocar de lugar por alguns dias, algumas horas...
- É impossível assim mesmo.
Depois forçando mais severidade na voz perguntou:
- Ele o incomoda tanto assim?
- Não, irmã. Ele não me incomoda tanto. Ele me exaspera a ponto de me fazer blasfemar. Só isso.
Ela ficou pensativa, Ab desesperado. Não adiantava nada pedir uma coisa humana a uma religiosa empedernida pelo hábito. Fé ali se desumanizara para adquirir uma rotina pegajosa. A eterna burrice da religião metodizada, esquematizada.
- O senhor é católico?
- Fui.
- Então quer dizer que já teve o Cristo e o perdeu mais tarde?
- Sei lá, irmã.
- Causa-lhe remorso a presença de Nosso Senhor?
Pronto! Merda! Vaca gorda e cretina! Que argumentos haveria contra tamanha bezerrice? Contra tamanha segurança mística? Toda a sua vida em luta contra uma religião irrefutável onde a certeza da salvação era uma salvaguarda para os sacrifícios humanos feitos por amor de Deus; uma coisa pesada, medida, sem noção evangélica da ignorância das duas mãos. Uma desconhecendo o que a outra realizava.
- Amanhã é quinta-feira.
- Que diferença faz, irmã? Depois de amanhã forçosamente será sexta.
- Quinta-feira é dia de visita do padre. O senhor agora está em condições razoáveis de receber o padre.
Não podia contar àquela bruxa que um religioso assassinara o Cristo em seu coração. Ela não entenderia.
- Não quero o padre, irmã. Proíbo até: isso é um quarto particular.
Notou que suas faces ficaram avermelhadas.
- O senhor sabe que sondei por intermédio de seus amigos o trabalho que o senhor faz no meio dos índios. A caridade de sua obra. Já pensou do valor disso se fizesse todo esse trabalho por amor de Deus?
- Irmã, caridade nesse sentido pra mim tem um significado nojento. Nada faria por ninguém, nem por um cachorro, se soubesse que haveria uma recompensa para tanto. A gente só faz alguma coisa por outrem por três motivos: ou porque gosta, ou porque pode ou porque está de bom humor...
- O senhor desacredita no próprio bem que pratica?
- Nunca pensei nisso, irmã. Acho que a gente deve apenas ser bom, o bem advirá dessa situação naturalmente. Mesmo irmã, quando a senhora garante que a gente fazendo um bem, não está encaminhando um mal? Só Deus na sua onisciência pode discriminar essas coisas.
Os dedos gordos da irmã deslizavam contra o ensebado do terço.
- A senhora vai ou não vai mudar o Cristo de posição? A voz enrouquecida aumentou de volume.
- Não poderei atender ao seu pedido. É impossível. Olharam-se nos olhos, mutuamente, quase com rancor.
Ab sem querer partiu para bem longe, numa aula, a última aula que assistira de filosofia numa certa Faculdade Católica. Estava ali quase por caridade visto não poder pagar os estudos. Ficava de aluno livre devorando o saber alheio. Tudo quanto podia fazer para amenizar a curiosidade da alma. O professor era um frade dominicano, grandão, todo de creme, com um manto negro, como se fosse um grande bem-te-vi. Não se lembrava bem porque o assunto viera nem porque viera. Falavam do misticismo religioso. Ele sem grande maldade, mas aguçado por uma diabólica inspiração, dera teoria dos religiosos de uma maneira rara para um simples e moço estudante. Certamente que a humanidade já falara aquilo muitas vezes. Fez uma exposição sucinta ante os rapazes e as moças sobre as tendências religiosas, fora convidado a se retirar da aula com a promessa de que nunca mais poria os pés naquele recinto. E o que dissera? Simplesmente que achava que todos os homens que se submetem a Cristo, se mutilando, fazendo a castração espiritual, se dedicando a amar outro homem, no caso Cristo, eram homossexuais conscientes ou às vezes inconscientes. Pois não concebia que homens fortes e viris vivessem se eliminando na ordem da reprodução, se esterilizassem por amor a outro homem. No ponto de vista das mulheres achava a mesma coisa. Não compreendia naquela época, o que poderia fazer calmamente hoje, por amor; por amor de Paula, perdera qualquer interesse num outro amor verdadeiro. Não compreendia, porque naquela época não descobrira ainda que o sexto mandamento era o mais suave ante os olhos de Deus. Duro seriam os pecados contra o Espírito Santo. A dúvida de Deus... A Negação de Deus. A irmã levantou-se e confirmou o que decidira.
- Não poderei fazer isso. É bom que a presença dEle o incomode. Isso significa que o senhor está voltando para Ele.
Veio a tentação de vingança e não poderia deixar passar aquela oportunidade.
- Nem por amor de Deus, irmã?
- Jamais.
- Pois bem, minha caridosa irmã em Cristo: não estava pedindo muito. Sei que não estava pedindo muito. Mas a senhora sabe o que significa realmente o Cristo para mim? Sabe? Nada. Nada de nada. Apenas um belíssimo homem. Um macho que impressionou os espíritos fracos. Sabe quem foi Cristo realmente, irmã? O primeiro playboy que apareceu. Enquanto São José velhinho, dava um murro danado como marceneiro, Ele ficava pelos montes e vales batendo papo. Não seria melhor trabalhar com o velho, dar uma mãozinha?
A irmã foi ficando congestionada. Parecia como que petrificada. O ódio incendiava a maldade, estimulando Frei Abóbora.
- A verdade de tudo isso, irmã, a verdade é a fé. Para quem tem a felicidade de crer ou de se tapear. A verdade segundo São Tomás de Aquino, na sua imensa gordura...
Deu uma risada debochada como para se vingar de tantos dias e tantas horas de sofrimento e solidão.
- A grande verdade é uma só. Mas quem sabe com quem está a verdade. A senhora, eu ou o seu Cristo?
A religiosa trincou os dentes e fechando os olhos exclamou:
- Quer queira ou quer não, eu rezarei pelo Senhor.
- Pois que reze irmã, o meu muito obrigado. Mas um dia quando a senhora estiver rezando face a face com uma grande imagem de Cristo, pense que a tanga pode se rebentar e o que surgirá, já que Cristo se fez homem como eu? Aparecerá uma coisa volumosa como qualquer homem deve ter entre as pernas.
Ela bateu em retirada. Na porta parecia mais humilde.
- Eu rezarei pelo senhor. Não sei se alguém já rezou pelo demônio, mas rezarei pelo senhor.
Saiu.
Ab sentiu-se trêmulo e desorientado. Afinal por que tudo isto? Por que falara tanto? Se nada resolvera: nada. O Cristo permanecia abandonado, morto, tartarugal, ante os seus olhos. Por que tanta picardia quando continuava só, SÓ. SÓ. SÓ. Sozinho como no primeiro dia que nascera. Sozinho como a morte o encontraria um dia e talvez muito breve.
Doía-lhe a angústia do Cristo espetado na parede, só. E ele, prisioneiro numa cama, na sua solidão, no seu abandono. Os dois vivendo vidas parecidas, mas sem se encontrarem. Os dois vomitando ausência e desamor.
- Amanhã é quinta-feira.
E como por milagre de tão soberba profecia, no dia seguinte foi quinta-feira. E com a manhã de quinta-feira a porta se abriu cedo, logo depois que David lhe dera um banho com a ponta da toalha molhada. (Continuava com ódio do mau cheiro e do suor). Logo depois que o copeiro com sua voz de gago humilde lhe trouxera o café... então, voltando a pensar no "milagre", à porta do quarto aparecera um rosto de padre magro pendurado num corpo esguio. Não se precipitou para dentro do quarto como se poderia esperar. Ao contrário ficou encarando o doente grudado nas abas da porta, conservando no rosto um sorriso de desafio.
- Então é o senhor?
Nem sequer perguntava como se sentia ou se precisava de uma coisa mais plausível.
Repetiu a pergunta rascante.
- Então é o senhor?
- Senhor o que? Entre pelo menos.
- É o senhor que não precisa do padre...
- Exatamente.
- Tem certeza?
- Absoluta.
- Nunca vai precisar?
- Nunca.
- Nem na hora da morte?
- Não penso em morrer ainda.
- Então o padre não pode lhe ser útil em nada?
O diabo segredou-lhe algo em seu ouvido. Algo que não coadunava com tamanha falta de consideração e caridade cristã para um doente. Sem ao menos ter a gentileza de um bom dia. Sorriu com ingênua maldade.
- No que eu preciso o senhor não pode me ajudar.
- Diga assim mesmo.
Agora o sorriso era dominador e provocante.
- Isso.
De supetão levantou as cobertas e segurou no sexo inerte.
- Isso. Uma mulher. Mas o senhor não vai querer me arranjar.
O padre bateu-lhe a porta na cara com violência e durante quinze dias que se seguiram ficou nas refeições recebendo como alimento, o reco-reco da galinha. A isto eles chamavam de caridade.
Com o frio lá fora perseguido por uma chuva miúda, os dias tornavam-se terrivelmente monótonos. Por outro lado, o gesso não esquentava tanto, deixava de cocar e os lençóis adquiriam um calorzinho agradável contra o corpo. Às vezes era preciso usar maior número de cobertores.
Se estivesse lá - aquele "lá" não podia ser mais distante - O Rio Araguaia conversaria assim: "Frei Abóbora, abre as janelas do coração e deixa penetrar a primavera. Olha o colorido das folhas, toda a selva se vestiu de muitas cores, como se tivesse tomado um banho num chuveiro de arco-íris. Ouve como cantam os pássaros e como ao pôr do sol a tarde se colore nas asas dos colhereiros. Manda essa tristeza para bem longe e goza o seu grande minuto de beleza e emoção!" Tudo isso e muito mais lhe diria o rio amigo. E de que adiantava porque na realidade se transformara num simples escargot.
- Você não gosta de escargot, Baby?
- Sei lá o que é isso, Pupinha.
- Vai saber logo.
Então os dedos finos e alongados seguravam os garfos especiais e retiravam os caracóis sabendo ao molho cheiroso. A delícia da boca bem feita mastigando prazerosa.
- Você é linda até comendo lesmas, Paula.
- Querido, não vulgarize uma coisa tão delicada. A coisa francesa de maior charme. Escargot...
Escargot, lesma, lumaca, caracol, qualquer coisa que vivesse dentro de uma concha. Ele. A imobilidade. O gesso.
Na pouca luz do quarto divisou o Cristo na parede. Coitado. Fazia frio e ninguém lhe dava um cobertor de ternura. Era aquela paralisia humilde, de cabeça meio tombada a esperar qualquer esmola de compreensão.
Tinham que se suportar. Mas no seu silêncio nem sequer conseguia responder às imprecações que o seu desespero lhe desferia nas horas de maior acerbação. Nem sequer levantava os belos olhos que diziam ser mais verdes que o verde mar. Penalizava-se com a imobilidade terrível e acusadora de uma tartaruga inconsútil...
Todos contavam que ele era lindo. Tinha o handicap da beleza. E se não o fosse, como conseguiria tudo que conseguiu? Bobagem, que Chico de Assis era feio de doer, mas a sua humana espiritualidade substituía a ausência do encanto físico.
Pensou na freira aprisionada a Ele. E como milhares de outras freiras, se casavam com Ele usando uma aliança simbólica na mão. Pensou também no frade o expulsando da aula, talvez injustamente, talvez na defesa da moral estrábica e burguesa. Sabia lá o quê! E quantos milhares de frades se ajoelhavam de braços abertos, em êxtase profundo ante a figura desnuda e sensual dos muitos Cristos espalhados pelas igrejas. A adoração quase alucinada, o amor justificado pela fé e redenção, ante um homem que diziam ter sido belíssimo. Um homem tão nu quanto o mais resumido biquíni que aparecia numa praia da Cote d'Azur. Por Ele se batiam, se ciliciavam, se torturavam, se atrofiavam, negavam à natureza o fundo bíblico de crescer e se multiplicar... A vida completa de paradoxos! Quantas vezes não deparava com missionários que traziam na ponta do terço o Cristo despido, tentando vestir, sem dar noções de higiene, aos pobres índios. No Cristo podiam admitir a nudez nos homens, jamais.
Tudo isso era sem conseqüência pensar; o importante de tudo era ter-se tornado um caracol, recolhido a um leito e a uma casca de gesso. O importante era o rolar do tempo, monótono e escorregadio, o vento frio, o Cristo nu, a chuva chovendo de uma maneira comprida.
Já não tinha tanta raiva da imagem à sua frente; de fato se acostumara até. Se não fizesse tanto frio, brincaria com ele assim. Brincadeira de "gato comeu".
- Cristo cadê a túnica?
- Gato comeu.
- E o manto?
- Gato comeu.
- E o resto das tuas roupas?
- Gato comeu.
- De maneira que só Te deixaram uma cruz e essa tanguinha?
- Foi.
- E os homens?
Na sua bondade, Ele não respondia que o gato comeu. Silenciava longamente, deixando perpassar uma multidão de anjos.
Aí Frei Abóbora ficava com uma pena danada dEle. Reconhecia que nessa pena existia uma participação de dez por cento do terrível dó que tinha de si mesmo. Ficava com os olhos cheios d'água e no fundo do coração uma história renascia doidamente:... Que idade tinha? Treze anos. O que era? Um lindo, lindíssimo adolescente de pele dourada e cabelos encaracolados e louros. E seu rosto? Um anjo teria gostado de possuir um igual. E o corpo? A natação começava a delinear as primeiras e marcantes formas musculares. E onde estava? Interno no colégio. E por que? Porque era levado, gostava de fazer exercícios num trapézio se imaginando o irmão mais moço dos Sarrazani. E não podendo ser um dos Sarrazani, porque circo rico não aparecia em Natal, resolveu fugir mesmo com o circo Estevanovitch. Mas muito antes de fugir fora descoberto. Carão, cara feia e colégio interno. Bom porque assim não teria o perigo de voltar mesmo a estudar piano. O fato de fazer exercícios escondidos de trapézio era uma revolta contra as mãos que não poderiam ser estragadas...
- Colégio interno fará bem. Pelo menos terá que estudar matemática. Suas médias são fraquíssimas nessa matéria. Incrível como pode ser primeiro aluno em todas as matérias e ser um fracasso em matemática.
Olhou os olhos do irmão diretor cujas sobrancelhas eram verdadeiros matagais espessos. Tinha horror dele. E ainda por cima parecia querer se vingar do seu pouco gosto pela matéria onde ele era considerado um grande matemático.
Pronto o cenário, era preciso juntar a matemática com Jesus Cristo.
"Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos"...
Era assim que começavam as aulas de religião do irmão Justino. Sua voz .vinha doce, saindo de um rosto moreno, onde a barba cerrada formava um tom azulado na pele. Mas azuis mesmo eram os olhos redondos. Um azul de céu.
Gostava das suas aulas ali. Porque a outra, a de matemática, Deus do céu. Era um pavor! Não conseguia aprender nada. Conhecia o irmão Justino desde os dez anos, quando entrara para o colégio. Gostava do seu gênio alegre e brincalhão. Que idade teria? Talvez quarenta e seis ou quarenta e oito.
"Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade, em verdade vos digo: eu sou o caminho da vida"...
Era isso mesmo? Devia ser. Porque a verdade mesmo era a vontade de que chegassem as três e meia, e as aulas se acabassem, porque iriam jogar futebol. Pelo menos o internato, livrando-o do piano permitia uma novidade formidável: o jogo de bola.
Então a corrente começava a se formar. O Cristo, a matemática, o irmão Justino e o futebol.
Não era campo gramado. Ao contrário, a poeira se levantava incrível entre os corpos suados na disputa da bola. Havia cacos de garrafas que ninguém via, pedras escondidas na areia. E veio o tombo e a coxa direita rasgada por um caco de garrafa. Um grito de dor. Sangue espirrando e o corte profundo se abrindo feio. Dor, choro, enfermeira e o irmão Justino, telefonando para o pai que era médico, prestou os primeiros socorros até que aguardasse a chegada do pai.
- Não é nada. Vamos dar uns pontos e quando casar sara. Uma semana em repouso e estará bonzinho da silva.
- E os pontos?
- O irmão mesmo pode tirar. Não quero ver por um mês esse índio malcriado. Só me dá desgosto. Nunca vi menino tão desobediente...
Dois dias sentira dor, depois com a coxa envolvida por ataduras, a coisa foi ficando mais suportável. Já podia, pela manhã, assistir a missa em pé, na janela da enfermaria que dava para a igreja. Era gozado olhar o momento da comunhão quando primeiro iam todos os religiosos de capa preta e mãos postas receber a hóstia consagrada. Depois, toda a meninada que queria comungar aparecer abrindo a boca, fechando os olhos, contritamente.
A enfermaria possuía três camas, mas só uma era ocupada naquele momento: a sua. Havia um cortinado, uma espécie de biombo na parte dos fundos que servia de dormitório ao irmão Justino.
Uma noite, o sono custava a chegar, porque nada tendo a fazer de dia, forçosamente, acabava por adormecer.
Uma noite, seriam quando muito nove e meia, o irmão Justino apareceu.
- Ainda acordado? Sorriu-lhe.
- Estou sem sono.
O irmão sentou-se na borda da cama e passou-lhe as mãos nos seus cabelos, carinhosamente.
- Dorme o dia todo, quando vem a noite acaba o sono.
Levantou-se e entrou no seu reservado. Pouco depois tornou a aparecer vestido num pijama branco com riscas vermelhas e pretas.
- Por que está espantado? Nunca viu um padre de pijama? Pois nós somos homens como qualquer outro.
O engraçado era que de pijama ele parecia um pouco mais gordo.
- Vou descer e tomar um banho. O dia hoje, e debaixo daquele hábito preto e quente, foi insuportável.
Ouviu os chinelos batendo contra os degraus.
Depois não sabia quanto tempo passara. Uma pequena sonolência confundia as luzes fracas da enfermaria. Os olhos começavam a pesar. Foi quando sentiu um cheiro suave de sabonete e sua cama ser afundada por um peso. Entreabriu os olhos e deu com o irmão Justino sorrindo para ele. Seus olhos tinham adquirido um tom quase esverdeados. Seus cabelos negros estavam úmidos e penteados. O seu corpo deixava escapar aquele cheiro de sabonete pela mornidez da noite.
Debruçou-se sobre ele e perguntou baixinho.
- Ainda está acordado?
A mão do religioso voltou a alisar os seus cabelos. O seu rosto estava mais próximo e os olhos ofereciam um brilho esverdeado mais escuro.
- Precisa ter mais juízo nessa cabecinha, menino.
- Ninguém me compreende lá em casa.
- Eu sei. Mas eu sei que você também é muito bonzinho, não é?
A mão deslizou da cabeça para o seu rosto. Os dedos ficaram alisando o seu queixo.
Sentiu medo e ficou trêmulo.
- Por que você está tremendo? Não tenha medo que não lhe farei nenhum mal.
Tornou a voz mais baixa mais suave.
- Você precisa ser bonzinho e obediente para o seu pai; você precisa estudar matemática direitinho.
- Não gosto de matemática.
- Mas eu vou ajudar você. Você não quer?
O cheiro de sabonete vindo do corpo, os olhos mais verdes, o rosto bem próximo. Já agora podia sentir o hálito morno bafejar-lhe o rosto quando as palavras saíam.
Teve vontade de fugir mas não poderia. Ainda se arrastava com dificuldade por causa do ferimento. O coração batia apressado.
- Você é um menino muito bonito. O mais bonito do colégio. Você precisa ser tão bonzinho como é bonito.
Subitamente colou o seu rosto barbado contra o seu. Sentiu arrepios e quis chorar.
- Não faça isso, irmão Justino. Tornou a erguer o rosto.
- Por quê? Não tem nada de mais. Você não gosta muito de mim?
- Mas não para fazer isso.
- Não estamos fazendo nada, seu bobinho. Prometo que não lhe farei nenhum mal.
Voltou o rosto por uns segundos contra o seu rosto. Sentia o seu respirar quente e apressado, a barba arranhando-lhe todo.
- Você precisa ser bonzinho para que eu o ajude nas provas de matemática. Já imaginou o desgosto de seu pai que é tão bom, se você repetir o ano por causa de uma matéria? Só isso. Eu ajudo você se você for um menino bem bonzinho.
A mão saíra do seu rosto e abrira o paletó, de pijama. O roçar das mãos mornas o desesperavam; sobretudo a voz que vinha mais macia entre um suspirar alucinante.
- Você vai ser um homem muito musculoso. Você gosta de nadar, não gosta?
Respondeu amedrontado que sim.
- Tão macio. Diferente de mim.
Puxou a sua mão e colocou-a, desabotoando o paletó de pijama sobre o seu peito. Viu os dedos se perdendo, horrorizado num peito cheio de pêlos. Quis retirar a mão, mas seu pulso estava preso por mão muito mais forte. Quis gritar, mas a enfermaria era divorciada do resto do internato. Apenas pôde gemer súplice.
- Não faça isso. Isso é pecado.
- Não estamos fazendo nada. Prometo que não passarei disso. Juro. Só quero que você fique bonzinho; só mais uma coisa e eu vou dormir.
Continuava com a sua mão presa entre os seus dedos, fazendo com que o alisasse no peito.
- Quando você crescer vai ficar assim como eu. Só depois de grande que a gente vê como é bom ter o peito assim macio.
- Solte minha mão. Eu não gosto disso. Soltou e sorriu.
- Bobinho. Só quero uma coisa e vou dormir. Prometo. Dessa vez prendeu o seu rosto com as duas mãos e ficou fascinado olhando para o seu rosto.
- Como você é lindo!
Os olhos verdes, verdes mesmos, o nariz meio dilatado, a boca entreaberta. Tudo nele devorando-o. A boca úmida sobre seus olhos, o corpo apertando-o contra a cama. A boca contra o nariz, descendo devagar em busca de sua boca. Quis libertar o rosto, mas não podia. Não podia movimentar-se. Então a boca grudou-se longamente na sua. Beijava-o e suspirava, murmurando coisas que não entendia. Até que sentiu que a língua violenta lhe penetrava entre os dentes.
Depois ele se acalmou. Desgrudou-se, sentou-se na cama e sorriu.
- Você é um menino muito bonzinho. Vou ajudar você a passar nos exames, nas provas. Vou dormir.
Entrou no reservado e a rede gemeu. Mas muito mais alto que o gemer da rede, eram os seus suspiros. Sabia que o irmão estava pecando sozinho contra a castidade.
Começou a chorar baixinho, prendendo o rosto contra o travesseiro. Não sabia o que fazer. Estava nas mãos dele. Precisava ainda ficar uns quatro dias. Quando era menininho pobre sabia de muitas safadezas que se realizavam entre eles. Não ignorava que alguns faziam coisas feias uns com os outros. Vira até. Mas nunca quisera. Não porque aquilo tivesse fama de pecado, mas porque via uns que ficavam marcados com apelidos insuportáveis. Mas nos menininhos aquilo para Deus deveria ter um aspecto de brincadeira de anjo. Depois tudo ficara longe, morto, sepultado na infância. Não podia delatar o irmão Justino pois que ninguém iria acreditar. Mesmo que tentasse contar ao pai, este, homem de comunhão diária pensaria que ele inventava fatos, caluniava, para poder sair do colégio interno. Além de nunca ter tido uma parcela de contacto e intimidade com o pai, nunca ninguém poderia desconfiar do irmão Justino. Logo do irmão Justino que era um anjo em pessoa. Havia o lado da questão perigoso, se aquilo se espalhasse, ele é que seria tachado de anormal. Marcado de fogo, porque menino é bicho mau mesmo e não perdoa. E quem diria que o irmão Justino não o reprovaria em Matemática? Certamente repetiria o ano. Melhor seria esperar que Deus o ajudasse, que ele não passasse mais do que já fizera. O mal e o nojo já eram pagas demais.
Adormeceu estremunhado e foi sacudido de estranhos pesadelos.
Acordou madrugada alta, quando o irmão Justino acendia a sua luz. Ouviu-o preparar-se e sair com o livro de missa e a capa que poria sobre a batina. Todos eles iam à missa e comungavam com aquela sobrepeliz negra. Ficou arrepiado, duvidando que hoje o irmão fosse comungar. Por certo poderia se confessar antes da missa, na sacristia. Sabia a hora exata que o padre chegaria: quinze para as seis. Foi postar-se na janela observando a chegada do padre. Verificando se o irmão Justino para lá se dirigia. Nada. Somente o barulho dos meninos internos, os maiores e os menores caminhando no mosaico e arrastando os bancos no ajoelhar.
Pouco depois paramentado, o padre ajoelhou-se com o sacristão.
- Et introibo ad altare Dei.
- Ad Deum qual laetificat juventudem meam.
Nunca um evangelho custou tanto a aparecer. Assim como a consagração e a elevação. Depois veio a comunhão. Seu coração batia de ansiedade. Primeiro, comandando os irmãos, vinha o diretor humilde nas suas grandes sobrancelhas, depois os outros a seu lado. E no meio deles, irmão Justino de mãos postas e olhos baixos. Tinha certeza de que não tivera tempo para se confessar e que a sacristia só possuía aquela entrada. Ficou fascinado com a sua boca entreaberta e a língua esticada recebendo a hóstia. Ou tudo que fizera não era pecado ou um simples ato de contrição apagava facilmente qualquer remorso. Sentiu na boca salivosa o gosto de sua língua e nas suas mãos o macio do seu peito cabeludo. De hoje em diante não acreditaria mais em coisa alguma.
"Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos". Aula de catecismo, olhos cor de céu. Eucaristia, o corpo místico, o pão e o vinho. Tudo enrolado num sórdido papel e jogado nas águas do Rio Potengi para que fossem afundar bem longe...
De noite repetiu-se a mesma coisa, mas rapidamente e com uma novidade. Ele viera já sem o paletó de pijama e fazia questão de roçar o seu peito contra o dele. A mesma saída rápida para o quarto, o mesmo gemido espasmoso dentro da rede. No dia seguinte, a mesma comunhão. Passou a tornar-se macambúzio, doido para sair da enfermaria e voltar ao dormitório comum. E nas aulas? Nas futuras aulas quando tivesse que responder às perguntas, ir ao quadro-negro, como se comportariam os dois? Qual precisaria ter maior dose de cinismo ao se defrontar?
De noite, e ainda faltavam mais duas ou três para tirar os pontos da perna ele apareceu com uma caixa de balas.
Abriu a caixa e retirou uma bala, desembrulhando-a e colocando-a em sua boca.
- Balas holandesas. Você não coleciona as figurinhas?
- Coleciono, sim senhor.
- Você é muito bonzinho, merece ter uma coleção delas. A melhor. Foi invadido por uma idéia.
- O senhor saiu hoje?
Respondeu, tomando-o em seus braços e aspirando os seus cabelos.
- Não. Por que?
De novo a fala que se arredondava em macia e os olhos que escureciam para verde.
- Como é que comprou as balas?
- Mandei um empregado comprar. Eu não tenho tempo de nada nessa vida. Nem de me cocar.
Se tivesse saído poderia ter passado na Catedral para se confessar.
- Quando vou tirar os pontos, irmão Justino?
- Pode ser amanhã. Está com tanta pressa assim?
- Estou perdendo muita aula.
- Você é muito inteligente. Recupera logo.
- E as provas de matemática?
- O que você não responder, nós "juntos" encheremos depois à noite, o que faltar. Está bem assim?
Pelo menos uma coisa de útil aparecia naquilo tudo. Aparecia como a primeira falha na moral. O primeiro toque marcante na futura e comum amoralidade que ensombreceria sua vida.
Naquela noite o irmão foi além dos limites: beijou todo o seu corpo e masturbou-o, masturbando-se conjuntamente.
Sozinho depois na cama pensou consigo mesmo. Amanhã se ele não se confessar e for à mesa da Comunhão, nunca mais acredito em Cristo, hóstia e salvação da alma. E ele foi oferecendo a mesma língua que introduzia em sua boca voluptuosamente, revestindo-a de humildade para recolher o corpo de Deus.
Tanto tempo, tanto tempo...
Sorriu para a imagem de Cristo que continuava na parede.
- Foi por essas e outras coisas que querendo ir aos domingos â praia, e não teria permissão se não comungasse, comungava de qualquer jeito, sem confessar, sem rezar o ato de contrição direito. Fazia aquilo porque o domingo estava cheio de sol, cheio de meninas bonitas com maios apertados e coxas roliças.
Fez uma pausa e tentou repuxar sua armadura de gesso um pouco mais para o alto da cama.
- Eu conto isso, Cristo, porque você não sabia. A Deus, eu confessei sempre minhas culpas e má-fé. £le sabia. Mas para mim, Você não era Deus. Como ainda continua a significar apenas o Cristo simplesmente.
A banheira virará um rio. Um rio quente como sói acontecer quando o grande calor prepara as chuvas. Um calorzão de novembro. Podia-se ficar das duas da tarde até as seis que a água não matava o calor. Sonhar não dava despesas e Ab, mergulhado até o pescoço, fechava os olhos indo por viagens bastante conhecidas no passado. Por que o passado? Logo, loguinho, começaria um período de massagens, exercícios e choques elétricos e aos poucos se prepararia para viajar. Dois meses sem andar, com as pernas prisioneiras naquela armadura de gesso, não fora coisa muito simples. Como elas tinham emagrecido na prisão. Agora é que tivera o conhecimento do número de fraturas que sofrerá. Só numa perna, dezesseis fraturas e esmagamento da rótula do joelho. Pouca gente agüentaria aquilo. Estranho era não sentir o morno da água sobre a pele, desde o umbigo até as pontas dos pés. Nem mesmo o sexo aproveitava aquela delícia do banho que os membros superiores sabiam diferenciar.
A primavera já se deve ter ido no sertão. As tartarugas já desovaram em setembro. Havia as retardatárias que ainda abusavam do mês de outubro. Sorriu pensando que anzol de tartaruga não tem ferrão.
- Chega de banho, rapaz!
Abriu os olhos e deu com o rosto alegre de David.
- Só um pouquinho mais, David.
- Nada disso. Meia hora de banho dá para tirar a sujeira até de um hindu.
Abaixou-se e desarrolhou a banheira. A água fazia redemoinhos baixando sobre o seu corpo.
- Vamos carregar o bebezinho para a cama.
Envolveu-o numa toalha felpuda e, dando um gemido, suspendeu Ab entre os braços. Caminhou para a cama, deitou-o com cuidado e começou a enxugá-lo numa forma de fricção.
- David, por que não senti daqui prá baixo, o calor da água? David tentou desconversar.
- Agora um talquinho aqui no bumbum, outro mais aqui no pumpum...
- Você não me respondeu.
- Isso é assim mesmo. Não vá ficar imaginando coisa. Pois se você ficou mais de dois meses sem se mexer, espremido no gesso já queria sair pulando cabra-cega daqui? Levante o braço. Quero o menino muito cheiroso porque daqui a pouco as fêmeas vão precisar de você.
- David, vou precisar de bengalas?
De novo David tentou puxar a conversa para bem longe.
- Que é que você estava pensando, quando eu cheguei? Estava de olhos fechados, tão calmo, que pensei que estivesse dormindo.
- Vou usar bengalas ou não?
- Se você quer se torturar antes do tempo, não vai não. Você não é melhor do que ninguém, mesmo sendo um Frei Abóbora. Vai precisar no começo e aviso logo, vai ser duro aprender... a andar de muletas.
Levou um choque. O enfermeiro sabia com quem tratava e tinha mais de trinta anos de contacto com os doentes. Levantou os olhos para Ab.
- Não vai ficar agora sem fala e com essa cara de bebê chorão.
Abotoou o paletó do pijama e deu um soco de leve no queixo do homem.
- Já foi uma graça do bom Deus você estar ainda vivo. Pensa que todo mundo tem sua mania de grandeza em escolher um papa-fila para ser atropelado? Dr. Afonso já mandou fazer umas muletas leves, acolchoadas, bem bacanas mesmo. Sabe de uma coisa? Você tem sorte, meu filho. Nem vai pagar as despesas de hospital e tratamento. Tem milionário que você conhece que se responsabilizou por tudo. E quanto às muletas, não se impressione não. O que eu já vi de muletas na minha vida! Um até que se rebentou todo e no ano seguinte ganhou um torneio de dança num clube. E os pobres que às vezes têm que improvisar cabos de vassoura para andar? É uma idéia: quando você ficar bom, pode enviar as suas muletas para um pobre qualquer num hospital de indigentes...
Vendo que o silêncio e a tristeza se estampava ainda no rapaz, tentou disfarçar.
- Vou sentir falta quando você for embora.
- Você deve dizer isso para qualquer um.
- Não. Evidentemente existem doentes a quem a gente se apega mais e outros a quem a gente deseja que desapareçam de uma vez da nossa vista. Você foi diferente. Mesmo porque, um homem que vive na selva, que vive no meio de índios e perigos, não pode ser tão medroso, tão perrengue, tão patife como você é. Qualquer dorzinha abre um berreiro dos diabos!
- Também não é tanto assim, David. Meu coração me diz que eu vou ter que chorar muito.
- Besteira, menino.
Levantou os olhos e encarou o enfermeiro com insistência.
- David, você sabe de alguma coisa. Você está escondendo alguma coisa, David.
- Lá vem a manha, de novo. Por que você não fica alegre como quando tiramos o seu gesso e o levamos para o banho? Você parecia uma criancinha, de tanta alegria. Se eu tivesse uma máquina fotográfica tinha tirado um retrato seu. Que é isso, meu filho?
Ab encostou o rosto contra o peito do enfermeiro e começou a soluçar.
De nada tinham adiantado as massagens, as picadas, os choques, as experiências e sobretudo as esperanças.
- Meu Deus, as minhas pernas!... As minhas pernas, meu Deus! Aquilo sim, era a dor. O ódio de comparar os exemplos desesperados de Gus; não era o dedo que estava ferido e sim as pernas mortas. Que importavam todas as bombas atômicas que dizimaram Hiroshima e Nagazaqui, que afogaram em chagas todas as vidas, todos os corações, se não tinha mais as suas pernas? O que importava eram as pernas.
Olhou apavorado para os membros embranquecidos, estilados, pesados, insensíveis. Pouco tempo bastaria para que virassem pernas sem vida como as bruxinhas de pano que se vendem nas feiras.
Olhou os olhos de Afonso como se esperasse ainda um milagre.
- Minhas pernas, Afonso.
O amigo balançava a cabeça negativamente. Nunca fora visto em rosto humano um sorriso com tamanha dose de tristeza. Tornou, quase chorando a implorar:
- Mas são minhas pernas, Afonso... Minhas pernas... Afonso acendeu um cigarro para disfarçar a emoção. Continuava desgraçadamente.
- Minhas pernas, Afonso... Eu preciso tanto delas... Você sabe.
- Fizemos tudo que foi possível.
Segurou nas mãos do amigo, tremendo como se fosse atacado por um arsenal de maleita. As lágrimas desciam, a voz se enrouquecia e a baba pingava entre suas palavras.
- Você sabia, Afonso. Você não é meu amigo. Você sabia que eu ia ficar assim. Por que não me deixou morrer?
- Não sabia. Tinha sempre uma grande esperança. Quando acaba a esperança para todos, o médico ainda conserva uma...
Virou a cabeça, afundando-a contra o travesseiro e soluçou desesperado. Suas mãos iam e desciam alucinadas por sobre a grade da cama.
O médico tocou a campainha chamando o enfermeiro.
- Vou mandar lhe aplicar um calmante. Você vai melhorar. Tornou a virar o rosto molhado para o amigo:
- Por favor não faça isso que você me mata. Não quero dormir e acordar para sentir o mesmo golpe.
- Não. Prometo que você não dormirá. Apenas ficará mais calmo e poderemos conversar.
Enquanto o enfermeiro aplicava a injeção, Afonso virou-se para a parede e enxergou a imagem de Cristo, a mesma imagem com que Ab tanto implicava. Ficou fumando e deixando a fumaça subir lentamente contra ela. Desanimado, ele falava no coração para o mesmo Cristo:
- Você vê o que um homem também pode sofrer por causa de outro? O pior de tudo é que a gente tenta fazer alguma coisa e às vezes não pode, como agora.
Falou para o enfermeiro.
- Encoste um pouco a janela. Um pouco de penumbra lhe fará bem, na certa.
Sentou-se numa cadeira de balanço. Deu um embalo e ficou sentindo a paralisia e a ineficiência das suas mãos naquele instante. Nem percebeu quanto tempo passou naquela abstração. Foi chamado à realidade pela voz de Ab.
- Você ainda está aí, Afonso? Levantou-se e foi sentar-se na borda da cama.
O rosto de Ab estava todo molhado. As lágrimas desciam sem que pudesse controlar. Mas os espasmos tinham desaparecido.
- Eu vou ficar aqui hoje. Vou dormir como acompanhante. Com a manga do pijama limpou o rosto ensopado.
- Estou procedendo como um tolo, Afonso.
- É assim mesmo. Até que você reagiu melhor do que se esperava.
- Você entende, não é Afonso?... Nova invasão de lágrimas pelo rosto.
- Mas justamente a mim, não podia ter acontecido isso. Minhas pernas... Minhas pernas...
Soluçou devagarzinho.
- Chore que faz bem.
- Eu que precisava tanto das minhas pernas... Tanta coisa já tinha arranjado. O dinheiro do cônsul dava para vestir quase cem Índias. Tudo perdido. Tudo perdido. Precisava tanto caminhar ainda na vida...
- Foi uma fatalidade.
- Já imaginou que não verei a alegria deles quando receberem as espingardas. Exagerei tanto naquelas histórias para ganhá-las e agora...
Tornou a soluçar.
- Nunca mais caminharei pelas praias do rio, nunca mais verei uma canoa. Nem de tarde poderei esperar a chegada dos pescadores... Minhas pernas, Afonso... Por que tanta maldade da vida?...
Foi tomado por uma convulsão, mas reagiu.
- Como poderei mandar minhas coisas para os meus bichinhos?
- Tudo será mandado como você quer e para quem você quer. Nós já estamos pensando nisso.
Afonso viu que ele queria falar, mas o cansaço vencia-o. As frases iam saindo incompreensíveis. O remédio fazia efeito.
Falava ainda em pernas, em rio, em canoa, mas estava deixando de falar em morte. Isso era bom sinal. Até que adormeceu de todo. Só então Afonso sentiu uma grande emoção, vendo o vulto adormecido, lembrando tanta vida que iria aos poucos se apagar.
Saiu do quarto de manso e do lado de fora encontrou David ansioso.
- Melhorou, Doutor?
Quis responder mas a voz faltou. As lágrimas inundavam-lhe os olhos.
David engoliu em seco. Apanhou o maço de cigarros no bolso da calça e ofereceu um ao médico.
- Fume um que faz bem.
Acendeu o cigarro e deu uma tragada. Só então pôde dizer alguma coisa.
- Adormeceu.
- Você ainda está aí, Afonso?
- Mandei David para casa. Vou dormir perto de você.
- E por que está no escuro? Não quer acender a luz?
Levantou-se e girou o comutador. Na luz do quarto analisou o rosto do doente. Havia os sinais de uma grande prostração, mas um começo de colorido aparecia-lhe agora na face.
- Está melhor assim.
- Você não quer tomar alguma coisa?
- Não sei. Parece que levei uma surra enorme. Mais tarde pediremos uma laranja. Posso?
- Claro.
- Bobagem perguntar isso; de agora em diante poderei fazer qualquer coisa, que nada me poderá também ser pior. Mas estou mais calmo e precisamos conversar. Você tem um cigarro? Tanto faz fumar agora como não. Trata-se apenas de prolongar com paciência a merda [ da vida.
Recebeu o cigarro aceso e fumou lentamente.
- Quanto tempo, Afonso?
Sabia o que ele estava querendo deduzir mas fingiu ignorar.
- Que tempo?
- De vida. Você sabe o que quero perguntar.
- Tudo depende de você. ,
- No pouco que estudei de medicina, já dá para saber alguma cousa. Vou me atrofiar aos poucos, não?
- Evidente que sem movimento os órgãos sempre tendem a atrofiar-se. É uma lei fatal. Mas o perigo não é esse...
- Sei. O perigo é a vontade de não viver que pode ser mais forte e... as defesas. O corpo parado sem se realizar vai perder a resistência para uma porção de doenças praticamente sem importância...
- Certo. Não poderei iludir a você, contando mentirinhas.
- Se você o fizesse, eu o odiaria, Afonso. Quer dizer então que mais tarde, uma gripe, uma pneumonia...
O outro silenciou confirmando.
- E ainda há outra coisa comigo, que não precisamos esquecer: o coração. Ele continua não indo bem, não é?
- O seu coração também é um problema.
- Os dois corações, não é isso? Conseguiram rir da piada trágica.
- Posso lhe dar um conselho meu caríssimo Frei Abóbora?
- Disponha.
Já começava a haver uma pequenina mostra de otimismo.
- Eu me mudaria para o Norte.
- O clima quente me faria bem?
- Sim.
- Precisamos pensar nisso. Logo que eu tiver mais ânimo, mandarei pôr à venda o apartamento que Paula me deixou. Terei dinheiro, fora as despesas, suficiente para viver dois anos, num lugar barato.
Nunca pensara precisar vender aquele apartamento, por isso engoliu em seco ao falar no assunto.
- Dá para mais de dois anos.
- Daria, meu velho.
- Por quê?
- Porque quando vier a grande tristeza logo me evaporarei. Depois metade do apartamento pertence, por promessa aos índios. Será transformado em anzol, fazenda, cacarecos e bugigangas para eles. Você acredita que eu me mude para o Norte?
- Piamente. Ainda aparecerá alguma coisa que você não acabou dentro da vida. Não era você que gostava de repetir essa frase: viver sempre pronto para morrer, mas viver como se nunca fosse morrer?
- Frase do velho Tom. Era eu. Mas isso quando eu era eu. Completo, íntegro e não metade de gente. De hoje em diante até a Deus não poderei amar completamente. A não ser que Ele me prove que existe uma sua faceta que também ande de muletas ou de carrinho de rodas.
Calaram-se, mas Ab recomeçou a falar friamente.
- Sabe Afonso, tenho a impressão que de agora em diante Deus vai virar um relógio para mim. Relógio-tempo-Deus. Relógio apenas eterno para matar um instante de vida, comparando que os minutos eternos podem ter exatamente o tamanho de toda a eternidade. Então passarei a admitir o relógio-tempo-Deus sem conteúdo de amor. Fungou emocionado.
- É melhor não conversar mais, Afonso. Está me vindo de novo a fraqueza.
- Vou chamar um enfermeiro para lhe dar uma dose forte. Assim você dormirá uma noite de paz. Mas vou lhe avisar uma coisa. Até que você se acostume à realidade vai ter seguidamente crises de fraqueza.
Ab então se revestiu de dolorida humildade. Falava para que o Cristo também ouvisse:
- Que coisa, não Afonso. Numa só vida, os homens assassinaram em meu coração a beleza do Cristo e agora a própria vida quer esterilizar tudo aquilo que eu encontrava de bonito no amor de Deus...
Quarto Capítulo - A Vida também tem cheiro de Goiaba
"Até que você se acostume à realidade vai ter seguidamente crises de fraqueza..."
A frase de Afonso. A bondade de Afonso. A certeza de que alguma coisa ainda viria que ele precisasse acabar na vida.
- Engano seu, meu caro Afonso. Só uma coisa precisarei acabar na vida. E sendo assim vou tentar.
Tocou a campainha e prontamente David apareceu: Até parecia não haver outros doentes no hospital.
David observou o seu rosto. Havia tanta calma que nem parecia ter sido o mesmo homem desesperado de outros dias.
- David, eu queria dormir. Por favor me feche a janela. Quero ficar bem no escuro. Não deixe também ninguém me incomodar, pelo menos durante quatro horas. Estou com sono. Um sono horrível.
David prontificou-se a executar o pedido.
- Não quer qualquer comprimido para ajudar?
Ab sorriu agradecido.
- Estou com tanto sono que nem vou precisar disso. Obrigado.
- É o cansaço natural depois de tanta emoção. Saiu suavemente cerrando a porta sem barulho.
Frei Abóbora esperou que a vista se acostumasse à penumbra. Então a crise de fraqueza começou a aparecer. Sentiu que as veias do pescoço estavam se dilatando. Os pulsos se arremetiam contra a pele numa brutalidade de sangue nas artérias. A fronte se intumescia e os olhos deve; iam querer sair das órbitas.
Falou ainda sem ódio para a imagem do Cristo Crucificado:
- Você viu o que queriam fazer comigo? Preciso contar? Talvez que você não entenda bem nesse seu passivo conformismo Mas queriam, Jesus Cristus, Rex Judaeorum, crucificar-me em duas muletas. Ridículo não? Pobre idiota! A Sua cruz pode ser mais dolorosa, mas minhas muletas seriam hediondas... Mas não é com você que eu quero conversar.
Suspendeu alucinado os olhos para cima e falou com o ódio que se derramava por todo o seu ser.
- É com Você, Deus. Você que não chamarei, na minha raiva de antigamente, Filho da Puta. Você que agora, no meu desprezo, não sei bem como tratá-lo se de Tu, Você ou Vós.
Engoliu em seco porque sentiu que a saliva desaparecia da sua boca tal a quantidade de ira que ia se acumulando nele.
- Deus!... Você está me ouvindo, não? Deus!... Não se acovarde, não se esconda, agüente firme porque Você vai ter que me ouvir...
Abriu os braços como quando rezava em desespero, naquele instinto quase inconsciente da perseguição de Cristo.
- Deus!... Eu odeio Você como odeio a vida. Eu tenho nojo da vida. Nojo de todo o estrume, das fezes, da merda eterna de que Você se apoderou.
Os dedos tremiam violentamente a ponto de doerem as unhas.
- Pois bem. Você que é onisciente, portanto sabe quão difícil foi a minha descoberta sobre Você. Não podia acreditar no terreno da Revelação nem no conteúdo dos evangelhos. Não podia. Minha fraca natureza humana queria algo mais de Você. Algo portentoso, iluminadamente inteligente. Algo que me separava de Você, multiplicado por milênios de anos-luz de inteligência que Você tem, mas que limita a minha. A certeza de que quando pára a inteligência humana ainda não começa a inteligência divina. E nesse vácuo torturante existe apenas um lampejo mínimo do mais leve indicio da sua Inteligência. Eu queria morrer com o nome de Deus nos lábios, cheio de amor e crença em minha pequenina fé, mas é em vão. Como acreditar no Cristo? Mesmo que Ele me aparecesse e eu perguntasse: "Quo Vadis, Domine?" Ainda que Ele repetisse tudo que dissera a outrem, apenas acharia lindo como beleza literária, Você sabe disso: Não é preciso o Cristo para o homem deixar de ser mau e tornar-se bom. Não é preciso fazer o bem para que o homem não seja mau. No terrível mistério das galáxias, onde o nosso humilde Sol com seu sistema planetário é um microscópico universo. No mistério infinito das galáxias onde existem bilhões de sóis superiores ao nosso com sistema planetário idêntico ao nosso, por que a salvação do homem pela revelação de outro homem? O que ele fez transcendia a divino, porque a bondade tem características divinas; o que Ele fez foi lindo, maravilhoso para a humanidade que se conforma com qualquer coisa. Mas eu queria mais, mais do que todas as promessas de Cristo. Queria um dia participar da Sua Inteligência eterna, com toda angústia da minha alma aprisionada em mim mesmo. Se finitos somos, se miseráveis nos realizamos, como participar da Sua presença? Se limitada me foi dada uma inteligência, se de fraqueza foi feita minha imaginação. Se de tristezas imensas e claudicantes se revestia minha concepção a Seu respeito... Foi difícil, Deus. Foi difícil admiti-lo em toda minha pequenez. Foi difícil e cruel redescobri-lo dentro da minha pequenez desesperante. Extraordinariamente duro, e Você sabe, um fiapo de inteligência querer participar, ainda mesmo que por amor, da Sua grande eternidade. Como poderia tão finito descobrir um ponto que atingisse Sua eternidade? Por si só a eternidade se avolumava em um círculo sem começo e sem fim. Eis que surgiu uma fórmula tíbia de esperança que me animou depois da morte poder talvez atingi-lo: Você me fez compreender o Perpétuo. O perpétuo de minha alma que teve um começo e não terá fim. Esse perpétuo seria a única maneira da minha humilde inteligência atingir um ponto do infinito. E só assim poderia morrer de esperança tendo em meus lábios uma única palavra: Deus...
Baixou emocionado os braços e a cabeça, e as lágrimas escorriam-lhe em grossos fios.
- Pois bem, Deus. Nada disso existe. Nada. Tudo perdido. A alma se encolhe e diminui dentro de um corpo de aleijado. Não sei se de todos. Mas comigo, sim. Não adianta mesmo amá-lO pela metade. É mais fácil odiá-lO pela metade. Ter nojo e repugnância de Você pela metade. Eu me mato porque viver sem o Seu amor é como tenho vivido até agora: sem o amor de Paula. Desculpe a fraca comparação. O inferno de Cristo é o que existe em nós sem o Seu amor. A ausência de Deus bem pode ser o inferno prometido pelo Evangelho. E o inferno com a Sua ausência bem pode ser aqui, nos milhões de minutos que o homem redescobre que a vida é apenas, apenas um acúmulo de dor. Portanto eu me mato porque como aleijado não posso amá-lo. Não quero sentir a Sua presença mediocremente pela metade.
Parou para tentar acalmar-se, tão grande fora a sua confissão e desabafo.
- Que sou, Deus? Isso meio corpo, meio alma. Que é isso? Segurou o sexo desanimado. Uma banana intanguida, morta, inútil. Tudo morto em mim, enterrado com a minha esperança de redenção. Eu não quero viver. Não quero viver mais. Viver para que? Que poderei fazer sem minhas pernas? Nada. Nada. Nada. Nem fugir das minhas angústias, poderei. Nada. Portanto minha despedida para Você será o que já disse. Parto da vida, odiando-a, enojado como o nojo e o ódio que tenho de Você...
Calou-se. Respirou forte e limpou as lágrimas com a manga do pijama. O que iria fazer exigia um esforço físico tremendo. Por isso era mister controlar toda a gama daquele sinistro desvario.
Firmou o corpo, repuxando-o para cima, apoiando-se nos braços contra as grades da cama. Depois foi se retorcendo todo, arrastando naquele movimento as pernas mortas e insensíveis. Tinha que descer da cama como uma grande lagarta desajeitada. Pendurou os braços, a cabeça e o tronco e tentou alcançar o chão com as mãos. Mas faltava ainda um palmo. Num esforço maior arrastou-se mais e os dedos tocaram a frialdade do chão. Agora seria menos difícil. Mais um esforço e as mãos poderiam ajudar a aparar o baque do corpo. Sentia-se um pouco entontecido. Arremeteu-se mais para baixo e soltou-se no espaço. As pernas mortas tombaram fazendo um ruído surdo. A pancada fora grande, mas não sentiu dor alguma. Necessitava colocá-las em posição igual ao resto do tronco para ter mais facilidade em se locomover. Puxava o corpo palmo a palmo como se fosse uma junta de bois a arrastar uma grande tora. Cada metro adiantado produzia-lhe um cansaço horrendo que o forçava a encostar o rosto contra o chão frio, descansar, respirar forte e tentar recomeçar a caminhada.
Falava Ab: "Falta pouco. A porta do banheiro está aberta para facilitar".
Com a metade do corpo subindo o degrauzinho do banheiro, encetou novo deslizar; que haveria agora que o corpo não avançava? Virou o rosto desanimado e deu com os pés enganchados nos degraus. Maldito Deus que não o ajudava. Teve que deitar-se de costa e com o auxílio das mãos desviar as pernas para libertar os pés. Aquilo exigiu tamanha luta que sentiu o pijama ensopar-se de suor. Pôde olhar fascinado o armarinho do banheiro. Se conseguisse chegar até lá estaria salvo. Os pacotinhos de lâminas. Era só atingi-las, desembrulhar o envelopinho e golpear os pulsos. O coração batia apressado. Precisava agir com mais rapidez. Teria que perder muito sangue antes que qualquer socorro aparecesse. Cortaria os dois pulsos e as veias do braço. Segurou-se no cano da pia e tentou a ascensão. O esforço fora tão descomunal que se urinou todo. Tocava a pia com as mãos. Os braços começavam a fatigar-se com o peso do corpo. Como a pia crescera tanto! Libertou uma mão e com a outra segurou a torneira. Depois tentou colocar a outra na mesma posição, enlaçando a torneira. Estava a menos de meio metro do armarinho. Sustentou-se com uma mão e com a outra tocou o espelho. Mas a porta não se abria e os dedos apenas alisavam o frio do espelho. Iam começar a faltar-lhe as forças. Tentou de novo e os braços principiaram a tremer. "Falta tão pouco! Falta tão pouco!" Entretanto os braços afrouxaram e tombou batendo antes com o queixo na borda da pia.
Tremia e chorava como um desesperado. Tão perto e tanto esforço sem sucesso. Babava e uivava. Ficou chorando alucinado. Observou em volta, procurando um rodo, uma vassoura para quebrar o espelho e recolher os cacos. Alcançaria a mesma finalidade. Mas nada havia.
O telefone soou três vezes e fez uma pausa.
- Esqueci de pedir para desligarem esse maldito telefone.
Que fazer agora? Na sua desgraça foi iluminado por uma idéia. Tinha que retornar de novo ao quarto, arrastar a cadeira de balanço e encostá-la com a janela. Os vidros da janela! Por que não tivera a idéia antes? Com sofreguidão veio se arrastando com toda aquela impiedosa caminhada. Em meio do caminho o telefone tilintou de novo. O estúpido parecia não querer parar mais.
Conseguiu puxar a cadeira de balanço e, lutando contra o balançar da cadeira, sentou-se nela. O coração parecia querer estourar dentro do peito. Fechou os olhos aspirando fortemente o ar para recuperar-se. Olhou a janela. Tivera sorte. David fechara a veneziana e o vidro para que o barulho lá fora não interrompesse o seu sono. Pobre David! Tão bonzinho. Agora precisava esmurrar o vidro com cuidado para que não escapasse o menor barulho. O que tombasse ficaria preso junto a veneziana. Fechou o pulso e arremeteu-o contra o vidro. Na sua expectativa durante um minuto parecia que o mundo vinha abaixo. Os estilhaços barulhentos pararam de cair. Tinha cortado as costas da mão, mas nada sentira. Arrancou o paletó de pijama rapidamente, pois que o tempo era escasso. E escolheu uma rucêga pontiaguda.
O telefone tornou a chamar violentamente. Era um aviso cruel. Mas não desistia. Ficou fascinado pela lâmina de vidro e a foi encostando doloridamente em seus braços. Derreou a cabeça para trás e entreabriu os olhos. O sangue a pingar por toda parte. Agora fazia apenas um grande riacho que escorria sobre as pernas mortas.
Ainda era cedo para morrer. O telefone o denunciara. A porta foi aberta com estardalhaço e David e mais dois enfermeiros presenciaram o quadro horrendo. A grande sangueira que existia por todo canto. Abriram a janela com brutalidade.
- Você está louco, meu filho!
David agarrou-o e carregou-o para a cama. Então veio o maior desespero de todos. Ver-se salvo quando tudo estava tão bem encaminhado. Urrou como um louco. Babava e gritava selvagemente. Abraçou-se contra as pernas de David e enlaçou seus quadris.
- David, David deixe-me morrer! Eu quero morrer! Desgraçados! Por que vieram outra vez salvar-me? Eu não quero viver mais! Vocês serão criminosos se me obrigarem a viver.
Os dois outros tentavam separá-lo daquele abraço, mas ele tomado de uma força inesperada, não se desligava. Ao contrário, apertava mais. Sentia que seu rosto se colava contra o membro do enfermeiro: podia sentir o volume do sexo contra a sua desgraçada face.
- Não me deixe viver, David. Eu suplico por tudo quanto é mais sagrado. Não me deixe.
Falava grudado ao sexo porque se falasse junto ao coração nunca seria atendido. Aquilo ali era o autor da vida, da condenação e da dor. Era aquela porcaria humana o verdadeiro Deus dos homens. O que ditava a vida. Que gerava o ódio, a desgraça e a vingança. Era naquele presente miserável de Natal que seu pai lhe dera a vida. Uma rota de misérias e podridões.
- David, David... eu quero morrer. Morrer, morrer. Me ajude.
Entrava mais gente no quarto. Foi desprendido de sua posição e aprisionado contra as cobertas da cama. Via David com os olhos cheios d'água e o avental branco tingido de sangue.
Aplicaram-lhe uma injeção que o desintegrava todo. Depois não podia mais ver nada, devido a sua fraqueza. Sentia as convulsões do corpo diminuindo gradativamente e uma enorme passividade tomou conta de sua vida. Só veio a ter conhecimento de que estava ainda vivo mais tarde. Todavia seu corpo era um grande cansaço. Não dor, só esgotamento. Queria falar, mas a fala não encontrava lugar por onde sair. Entre sombras via o corpo de David recostado na cadeira de balanço já provavelmente limpa ou trocada. Via que ele o observava. Estava de atalaia aos seus menores gestos.
Gemeu baixinho.
- David.
Ele veio para perto de sua boca para evitar-lhe qualquer esforço maior.
- Que foi?
- David... por que não acendem a luz?
- Está tudo aceso, meu filho.
- Estarei também ficando cego?
- Não. É o efeito da injeção. Quando passar, você enxerga bem, de novo.
Tomado de ternura passou as mãos sobre os cabelos de Ab.
- Que loucura, meu filho! Que pecado horrível você ia fazendo contra Deus.
- David... você não acha... que é maior o pecado que Ele está fazendo contra mim? Por que você veio David? Eu disse que queria dormir quatro horas...
- Foi o Dr. Afonso que ligou para o seu quarto muitas vezes. Então ele ordenou que de qualquer maneira alguém viesse aqui.
- Cadê ele?
- Vai voltar. Esteve todo o tempo com você. Ajudou em todas as transfusões.
- Por que você não me deixou morrer, David?
- Porque um enfermeiro está para ajudar a viver, nunca a morrer. Quando chegar a sua hora, Deus o levará de certo.
- Onde você quer que eu vá, quando sair daqui?
- Onde eu quero? Não sou eu que vai decidir isso, meu filho. Por que?
- Você pode escolher por mim, já que não me deixou morrer. Tenho pouca chance aonde ir. O Viaduto do Chá. A escadaria do Teatro Municipal. As calçadas da Rua Sete de Abril. São os pontos que dão mais esmolas aos aleijados...
Sentiu a mão do enfermeiro sobre sua boca. E uma rouquidão estranha em sua voz.
- Não fale mais, meu filho. Nunca isso há de acontecer. Nunca.
As luzes tinham retornado à mesma força anterior. A não ser um resto de tontura e dor nos olhos, tudo se recompunha. Os braços estavam cheios de atadura, desde os pulsos até acima dos cotovelos. Na outra cama, Afonso dormia o sono dos justos. Teve vontade de acordá-lo para perguntar:
- Você está sentindo, Afonso?
Mas penalizou-se com o cansaço e o sono que vinha entrecortado de um leve ressonar. O outro tivera um dia atropelado e fora a grande causa disso tudo. Era melhor deixá-lo dormir.
Mas o cheiro aumentava horrivelmente. E não era imaginação. O cheiro de goiaba vinha de todos os lados.
Ante seus olhos a luz tomava uma intensidade inusitada. Era como se fosse dia. As paredes do quarto principiaram a se alargar e tomar um esbranquiçamento esplendoroso. A porta se alargara e desaparecera formando um corredor enorme e também fulgurante. Lá vinha ele caminhando devagar e arrastando as sandálias pelo mosaico reluzente. Dava para divisar as calças brancas e a camisa também branca com as mangas arregaçadas até os cotovelos.
Era a segunda vez que seu pai lhe aparecia. Sendo que de outra vez usava apenas um pijama azul-claro e calçava chinelos.
Pobre pai! Somente dois anos antes de morrer, quando o coração já não servia para nada, que o descobrira. Como gostava, de longe, do pai. Mas nunca lhe significara muita coisa. Só no fim da existência passara a admirá-lo, gostando até dos seus desenhos e quadros. Sabendo da sua condenação, quando podia, afastava-se de Paula e mesmo antes de se embrenhar no sertão, para ficar alguns dias a seu lado. Tentar remediar naquele pouco tempo toda uma existência que esperava por seu carinho e compreensão. Quando esta aparecera, estava cansado de esperar. Um presente de vida retardado.
Aproximava-se mais. Dava para ver seu rosto moreno onde a barba azulava. Os seus cabelos ainda como morrera, com um leve embranquecimento nas têmporas. Parou junto a sua cama e sorriu. Depois curvando-se ofereceu o rosto para ser beijado. Como sempre o fizera: deixava-se beijar confirmando as duas variações de beijo da vida: os que beijam e os que se deixam beijar.
Sentou-se a seu lado e olhou-o firmemente nos olhos.
- E então, meu filho?
- Conte como você está, papai? Você está bem? Seu aspecto é muito bom.
Atacado por um jato de ternura queria movimentar os braços enfaixados e apertá-lo contra o peito. Talvez assim varresse o vazio e a solidão das últimas horas.
- Eu estou muito bem, muito bem mesmo. É tudo que posso dizer e você mesmo pode ver.
Esticou o braço e colocou a mão aberta sobre o seu peito, como se afagasse seu coração.
Balançou a cabeça reprovativamente olhando seus braços prisioneiros das ataduras.
- De novo, meu filho?
- Que faria você?
- Nunca faria isso.
A mão que o tocava no peito estava reprovando também aquela outra vez que tentara se matar com um tiro, na selva do Xingu. Por isso ele lhe aparecera pela primeira vez.
- Não faça mais isso. Promete?
Não queria prometer nada. Mas viu que seus olhos estavam marejados de desespero e de tristeza. Por que fazer os pais chorarem? Com o outro por causa de um Natal, que o perseguira durante toda a vida. Agora...
- Não chore, papai. Eu não posso me emocionar e mesmo nunca mais quero chorar na vida. Prometo que vou embora para o Norte. Prometo tudo, tudo, mas não chore.
- É melhor assim. Um pouco de paciência.
Sem ainda tirar a mão do seu peito ele tornou a fixá-lo, mas dessa vez com uma brandura que enternecia. Nem precisava falar, porque ele estava lendo os seus pensamentos.
- Sobretudo, meu filho, esquecer o rancor contra Deus. Ficou mais emocionado e perguntou:
- Como é Ele, papai? Já lhe perguntei uma vez e você não respondeu.
Abanou a cabeça de leve.
- Só lhe posso explicar dentro do ponto de vista humano. Ele é Amor, Misericórdia e Beleza. É tudo quanto posso dizer.
Sorriu já com os olhos enxutos, resplandecentes de bondade.
- Você verá a Deus, meu filho. Preciso ir.
Fez uma cruz na sua testa, outra na sua boca e outra maior no seu peito.
- Lembra-se? Como quando você era pequenino.
E contrariando a teoria comum do beijo e da vida, debruçou-se sobre o seu rosto e beijou-o longamente: ainda sentia a sua barba picante como da primeira vez que o vira, quando fora dado.
Sentou-se e com as mãos tocou nas ataduras de cada braço, sorrindo.
- Isso de agora em diante, não doerá mais. Adeus.
Lá ia ele caminhando pelo corredor, esplendoroso e branco, arrastando de leve suas sandálias. Um pouco, pouquíssimo mesmo encurvado para a frente. No fim do corredor virou-se e acenou um leve adeus.
- Adeus, papai. Meu querido papai que nunca foi meu...
O cheiro de goiaba ia-se dissolvendo no espaço, o corredor se extinguindo, levando nos seus mistérios o vulto amado que, tinha certeza, não veria mais até a morte.
Todo o resplendor da luz se encolhera como a alma de um aleijado que se recolhe no pequeno pedaço do corpo vivo. O quarto ficara quase na penumbra. Seus olhos parados fixavam a parede em frente onde o Cristo tomava seu antigo posto.
- Que foi?
Virou-se para o lado, de onde vinha a voz de Afonso. Subia acima de seu rosto, tênue fumaça de cigarro.
- Que foi? Faz quinze minutos que estou espiando você e nem sequer notou.
Sorriu com calma.
- Nada.
- Você tinha uma expressão no rosto, de tamanha calma, tamanha paz, que parecia o rosto iluminado de um anjo. Ninguém vivo poderia ter tal beleza, só os olhos das figuras místicas de El Greco.
- Você não acredita se eu contar.
Afonso sabia que era bom que ele conversasse assim tão calmo. Pobrezinho do Frei Abóbora! O que iria ser dele?
- Conte, conte o que foi. Com você sempre aconteceram as coisas mais estranhas.
- Ele me apareceu de novo.
- Ele quem?
- Mau pai.
- O do Norte?
- Sim. Você ainda não sente um pouco de cheiro de goiaba no quarto? Ainda há uns resíduos por aí...
- Como posso sentir se estou com o nariz impregnado de fumo e nicotina.
- Ele veio. Tão bonito. Tão calmo. Rezou meu coração. Pediu para que eu não fizesse mais isso. Pediu que prometesse.
- E você?
- Prometi sim. Ninguém pode negar para os olhos de um morto que chora. Disse que não iria mais doer aqui, nos braços. E sabe que a dor passou, mesmo?
Afonso sentiu uma alegria que de lá muito não sentia. Agora sim, ele começava a reagir.
Falei que ia para o Norte. E ele já sabia. Eles sabem de tudo. Só queria que você visse como ele estava vestido, de camisa e calças brancas. Mas era um branco que não existia. Não sei explicar. O rosto moreno e corado. Usava sandálias. Quando ele chegou no fim do corredor, me deu adeus.
- Vocês só falaram isso?
- O resto não posso contar, Afonso. Juro que não posso contar. Afonso deu a última tragada no cigarro, sentindo-se alegre.
- Assim é que eu gosto de ver você. Forte como antigamente. Vamos dormir. Ainda há um pedaço de noite. São só três horas. Precisa de alguma coisa?
- Não. Dessa vez vou dormir em paz.
- Posso apagar a luz? Qualquer coisa você me chama. Apagou a luz e voltou para a cama. Custou a conciliar o sono.
Pensava na estranha força dos místicos. Estranha e bela. Agora ele estava salvo. Certamente a morfina provocara aquela crise benéfica. Porque os místicos são realmente fortes.
Quinto Capítulo - Anjo-Moleque
3 eis meses têm mais ou menos 184 dias. Cada dia, 24 horas. Cada hora, sessenta minutos e cada minuto vivido um por um, exceto as horas de sono. Vividos não, deslizados. Deslizados não, arrastados.
Arrastados, propriamente, não. Aprisionados: aprisionados como tudo, se prendendo num elo condenativo. Desde a alma, no corpo. O corpo, na cadeira de rodas, a roda, no eixo... E o eixo? Na puta que o pariu!...
Precisava não contar o tempo. Esquecer, esquecer como a areia da praia que recebe as ondas, mas ao anoitecer não se lembra de quanta água por ali passou.
Quando não empurrava a sua cadeirinha de rodas, tentava usar as muletas. Até que se acostumara. No começo o ardor: ardia mais com o suor que o clima quente produzia. Mas depois de nascidos os calos, as coisas tomaram outro aspecto. Duro mesmo foi aprender a equilibrar o corpo. Arrastá-lo pacientemente, sem nunca poder evitar que as pontas dos pés arranhassem o chão. Daí então passara a usar sapatos de tênis, porque eram mais baratos e estragavam menos suas finanças. E sapatos escuros: marrons ou azuis.
"Te conheci no Recife cercado de pontas
No bairro das fontes coloniais"...
Assobiou a canção de Caymmi. Bonita a música. Bonita como aquela poesia de Bandeira que cantava Recife de um jeito maravilhoso. Antigamente achava Recife uma beleza. Agora, não. Possivelmente a cidade continuava da mesma maneira. Ele é quem apodrecera. Nos seus tempos de estudante sim, nunca houvera cidade mais alegre, mais cantante, mais barulhenta. Gostosa desde as matinées no Cinema Royal. Cheirosa como os jambos e as balas efervescentes que vendiam na Rua Nova. E a Rua Nova trazia os carnavais malucos onde o frevo tomava conta, botando todo mundo na dança. Nem padre poderia passar porque acabava dançando. Os grandes maracatus, com os reis e rainhas e a boneca imperial. Êta Recife doido! Festa de estudante. Festa na Madalena. O Pina, a ponte suspensa. Comer pitomba amarelinha, amarelinha, perto das calçadas do Grande Hotel. Jogar baralho de noite, nas pensões dos estudantes na Rua do Hospício, na Rua do Colégio Marista. Domingo ir a Dois Irmãos, Apipucos, Jardim Zoológico. Ou Olinda ou também Boa Viagem. Sorrir embevecido com a casa em formato de navio e onde o dono, diziam, vivia vestido de capitão. Ver o Náutico ganhar do Santa Cruz, na Ilha do Leite, o reino das peixeiras. As pontes no Capibaribe. As ioles singrando o rio, com o chapinhar ritmado das pás dos remos. Os bondes brancos fechados, o Café Lafaiete onde o abacate vinha espumoso num copão bem grande, que dava para matar mais a fome que as comidas das pensões percevejentas. A delícia da cartola e o jogo de sinuca no Taco de Ouro. As putas de noite, ratuínas da noite, ficavam esquinando perto do prédio do Diário. Recife verde de mangueiras. Praias de arrecifes, doendo os olhos nas areias brancas. Adormentar a preguiça à sombra dos coqueirais. Ficar vendo ao longe a vela vadia de uma jangada ligeira. Recife. Recife. Recife do bairro das fontes coloniais...
Mas não era nada disso. Recife se limitava agora a um quartinho térreo na Rua da Praia, quase embaixo da escada, perto de um banheiro lodoso e cheirando a urina nova. Pouca gente morava no térreo. Os outros viviam no mundo de cima das escadas. Dava graças à boa sorte em ter encontrado um quarto barato num lugar onde todo mundo discutia e brigava, mas com ele eram todos amáveis. Seis meses. Seis meses. Seis meses. Precisava fazer alguma coisa. Verdade que tinha sua pequena utilidade. Todo mundo batia à porta do seu quarto.
- Seu Raimundo, por seu favor, o senhor sabe fazer isso?
Se sabia, fazia. Descobriram que ele era mestre em dar injeção sem dor. Que tinha umas mãos tão macias que tratavam qualquer ferida sem um ai. Além de somar as cadernetas das vendas, fazer uns riscos de bordado e escrever cartas para lugares que nem existiam, assim como São José do Egito ou Cerro Cora...
Ganhava presentes modestos. Rapadura batida, potinhos de melado, canecas de café, cuscuz de bico de chaleira, gostosas pamonhas e copos de caldo de cana.
Mas não se conformara ainda com a sua situação. Se não podia morrer, também viver não queria. Era todo um mormaço pastoso de indiferença e tédio.
Esperava o mundo da noite para ficar sentado à porta do prédio e ver o resto do trabalho do dia. Um trabalho que nascia cedo, barulhento. Gente carregando sacos de mercadorias. Os grandes armazéns cheirando a cebola, suor e maresia. Os sinos da Igreja da Penha. O ruído do mercado São José se fechando. Gente suada, cansada, voltando aos lares e a rua se tornava dos gatos vadios, das putas baratas e da sua tristeza.
Mudara de nome. Qualquer um servia, porque ninguém iria pedir a identidade de um aleijado. Gostara de Raimundo Amorim da Silva. Pronto. De Raimundo para Reimundo, foi um pulo.
E as putas passavam e mexiam com ele.
- Cumo é seu Reimundo, nada hoje?
- Você precisa de melhor sorte do que eu, minha flor.
Era quanto Turga descia as escadas naquela maravilha de carnadura morena e brigava de mentirinha com as outras.
- Sai prá lá, feiúra. Num bula com o meu santinho.
Parava toda linda naquela moreneza, com o vestido sempre de grandes flores coloridas, com os seios duros furando o jardim de seda. As ancas redondas cercando o jardim das sedas apertadas. As pernas roliças e bem feitas fugindo do jardim das sedas para ser mais fêmea ainda.
- Já vai, Turga?
Ela ria naqueles dentes muito brancos. Retocava a pintura olhando os olhos negros e arredondados, que não eram de seda, mas de veludo. Espremia os jambos vermelhos dos lábios carnudos para endireitar o batom.
- Você está linda, Turga.
- Uai! Sempre fui, meu santinho.
- Mas é que hoje você está num exagero que Deus te livre!
Ela ria e dava té-loguinho pra ele e saía para a noite compassando a rua com o balançar dos quadris. E que ia, balançando a bolsa de um jeito tão lindo que só faltava varrer as pedras do chão.
Turga. Maria Taumaturga. Passava o dia dormindo. Passava a noite mais ou menos deitada. Às três horas da tarde vinha naquele peignoir espalhafatoso soltinho em cima do corpo lhe trazer um cafezinho, fumar um cigarro e conversar. Turga se interessou por toda a sua história. Chorou duas lágrimas de veludo, enormes, quando lhe contou o desastre.
- Que judiação, meu Bom Jesus da Lapa. Tem nada não, meu santo. Nada de ruim vai lhe acontecer mais, que eu não deixo, viu?
Depois olhara mais tristonha ainda o rosto que ainda era bonito e perguntara com a maior naturalidade:
- Você num pode mais disputar? Apontou a espinha e as pernas.
- Daqui prá baixo não sou mais homem, Turga.
- Mas você é muito do macho. Porque não é qualquer homem que tem a coragem de dizer assim. Todos os outros iam logo de mentira prá cima da gente.
- A gente não pode mentir prá gente, Turga.
- Lá isso é verdade. Mas meu santinho, eu gosto tanto de você que, se você pudesse, me usava que não ia lhe cobrar nada, juro.
Lá ia ela, longe, procurando um jardineiro para a sua noite. Certamente no dia seguinte contava o que arranjara e se o lucro fora bom. Turga. Maria Taumaturga.
- Vendo a noite, seu Reimundo?
Era o alfaiate Altamiro que morava no primeiro andar e que o povo só o tratava de seu Talamiro.
- Vendo um pouquinho.
- Como é? Já resolveu subir a escada e vir trabalhar comigo?
- Logo que vagar um quarto no primeiro andar e eu puder me mudar.
- É tão fácil. O senhor ficaria sentadinho cortando as fazendas e dava para ganhar uns cobrinhos.
- Eu sei e lhe agradeço. Mas fica muito difícil subir e descer essa escada todo dia. Pode ficar certo que um dia eu subo a escada e vou trabalhar com o senhor.
- Quando quiser, já sabe, terá o seu banquinho lá. Agora vou dar uma voltinha e tomar uns bacuraus. Té logo.
Saía magro, meio amarelo e voltava dando ziguezagues enormes. Sabia quando ele chegava porque subia as escadas batendo os seus bacuraus na parede e no corrimão.
Resolveu rodar a cadeira pela calçada esburacada, mas vazia no momento, e dar um passeio até enxergar o Grande Hotel. Dali não passaria porque uma vez querendo ir comprar pitombas e j ambos, um turista tinha-lhe dado esmola. Ficou vermelho e confuso. Sobretudo cheio de dor e vergonha por dentro.
Ficava agora bem distante do prédio, olhando as luzes, o cais, as barcaças e os iates salineiros, dormindo calmos nas águas. Chegava até dar cochilos, recebendo no rosto a brisa que vinha do mar...
Incrível como o tempo passava! Fazia onze anos que Paula morrera! Onze anos que se chafurdara pela selva arrastando uma saudade desesperadora que não morria nunca. Ainda bem que ela não veria a sua ruína. O seu destino prisioneiro a uma paralisia. Ainda bem. Paula morrera levando na lembrança todo o seu esplendor de juventude. Paula. Paula que morrera tão longe. Tão longe...
"...Não podia se furtar ao convite. Tinha que ir. A entrevista fora marcada e precisava comparecer. Barbeou-se e olhou os olhos inchados de uma semana que chorara. Inchado pela dor e pelo álcool. Vestiu-se do melhor modo e faltando quinze minutos para as três já se encontrava num táxi.
- Por favor, chofer, leve-me à Avenida Rebouças.
Deu-lhe o número e recostou a cabeça na almofada, cerrando os olhos para não demonstrar aflição.
Viajara sem sentir. Saltara, pagara o carro como um autômato. Suas pernas teimavam em fazê-lo desistir. Mas a mão tocou a campainha da porta. Veio um mordomo que o fez seguir do portão até a entrada principal.
- Madame espera pelo senhor.
Atravessou o hall e foi introduzido no grande salão. O mesmo salão onde se sentiu analisado em tudo que fazia. Tantos anos então.
- O senhor pode esperar um pouco que Madame já desce. Por favor, sirva-se de um cigarrinho.
Agradeceu sem aceitar. Ouviu o vulto sem barulho deixar o aposento.
Ficou observando a sala pedaço por pedaço. Aproximou-se do piano negro, com um xale de seda espanhol, de franjas coloridas, descendo sinuosamente sobre a tampa.
Sobre o xale, numa moldura de vidro o retrato de Paula naquele modo todo seu de sorrir sem abrir os lábios.
- Paula. Paule, Paule. Pupinha, Pô.
Não queria emocionar-se nem sentir os olhos se marejarem. Paula tão viva nas lembranças. Paula morta. Morta tão longe. Tornou-se de fascínio pelo retrato. Ficaria ali contemplando o vulto de Paula toda uma existência, pois que aquilo era a primeira coisa que lhe conseguia dar um pouco de paz nas últimas horas.
A porta entreabriu-se e a Lady Senhora penetrou como uma pluma deslizando, no salão. Virou-se e em silêncio beijou-lhe as mãos. Sentaram-se frente a frente. Ambos se analisavam. Os traços da Lady Senhora estavam meio desfigurados: os olhos se perdiam em grandes olheiras. Emagrecera um pouco, mas procurava manter uma serenidade que tocava as raias do sublime. O corpo postado numa posição perfeita, onde nem a dor conseguia eliminar a elegância. A mesma elegância de Paula. Os mesmos olhos, o mesmo perfil orgulhoso e as mãos esguias, assentando-se no colo. Apenas os cabelos tinham completamente embranquecido, diferentes da última vez que estiveram juntos.
O silêncio parecia o túmulo de todos os anjos. Nem o mais leve sussurrar de asas.
Foi preciso que a Lady Senhora tomasse a iniciativa da conversa.
- Então, meu amigo? Venceu a emoção e respondeu:
- Logo que recebi o comunicado da senhora, prontifiquei-me a vir.
- Sabia que o senhor viria. Fez uma pausa.
- Na minha idade os golpes custam a recuperar o ânimo. Por isso precisei descansar uma semana antes de chamá-lo.
Ambos precisavam daquela lógica e serenidade. Teriam que esmagar os sentimentos e a possibilidade deles, mantendo uma atitude e uma conversa de gente amadurecida e sensata.
- Logo tomaremos um chá, caso não prefira uma outra coisa.
- O chá está bem, Senhora.
Cruzou os dedos esguios sobre as pernas deixando aparecer apenas um solitário entre eles.
- Nosso aspecto não está nada favorecido.
- Que outro jeito poderíamos ter, senhora? Quando entrei nesse aposento precisei conter-me e dominar a emoção.
- Compreendo. Vou mudar-me daqui. Cada canto respira a presença dela.
Teve um ligeiro estremecimento na voz. Felizmente o barulho do carrinho de chá apareceu na porta.
- Simples?
- Obrigado, simples.
- Pouco açúcar?
- Assim está bem, obrigado, Senhora.
Pela primeira vez reparou que suas mãos tremiam. Ela fechou os olhos para sentir o chá. Depois colocou a xícara sobre a mesinha e usou um fino guardanapo para secar os lábios.
- Um pouco mais?
- Não. Obrigado.
Soou uma sinetinha de prata e o mordomo veio retirar a mesa.
- Um cigarro?
- Agora não, Senhora.
Antes que o mordomo se retirasse da sala, virou-se em sua direção e recomendou:
- Alberto, traga-me, por favor, aqueles envelopes que estão em cima da secretária.
Voltou a reclinar a cabeça contra a poltrona. Ab sabia que alguma coisa de mais sério iria principiar agora.
Ela colocou a voz de uma maneira suave ao falar.
- Quando meu marido estava vivo, fazia todas as vontades à Paula. Eu me conservava como uma espécie de censura para não estragar demais minha filha. Depois que ele morreu, eu descobri que tudo que possuía na vida de real era ela. Então estraguei-a o quanto pude. Fiz-lhe todas as vontades. Parecia adivinhar que ela partiria tão prematuramente...
Calou-se um instante, para dominar-se outra vez, visto que os olhos teimaram em se molhar.
- Viva, minha filha teve todos os caprichos satisfeitos. Morta, realizarei todos os seus últimos desejos. Estou falando isto - ergueu o vulto na poltrona para aproximar-se mais do rapaz - para que o senhor não venha objetar qualquer coisa do que vai se seguir.
O mordomo apareceu com dois envelopes na mão. Tudo no salão parecia ter sido ensaiado: o mordomo entregou a encomenda, fez uma reverência e retirou-se cerrando as portas sem barulho.
- Primeiro uma carta de Paula.
Dessa vez foram as suas mãos que tremeram ao receber. Um suor frio inundava-lhe a fronte.
- Pode lê-la à vontade. Eu esperarei. Implorou quase sem voz.
- Se a senhora me permite, irei lê-la perto do piano. Lá existe mais luz. Com o sol da selva, meus olhos estão se apagando um pouco depressa.
- Por favor, não se acanhe. Já disse que esperarei.
Não estava rasgando o envelope e sim despedaçando a alma. Tinha que ler, tinha que ler.
O papel branco vinha impregnado de um resto de perfume. O resto das unhas de Paula.
"Baby, meu amor, meu único e querido amor.
Quando você ler estarei longe, longe, mas onde estiver nunca esquecerei você.
Meu amor, meu querido amor, perdoe-me por ter jeito com que me odiasse, era preciso. Eu sabia que estava condenada. Poderia ter bebido menos e viver uns dias mais. Não tive essa coragem. Porque quanto mais tempo permanecesse viva na minha condenação, mais difícil a possibilidade de perdê-lo. Baby, meu baby, meu lindo querido, nunca você me aparecera tão belo, tão másculo, tão simples como na última noite em que todo bronzeado, vestia aquela camisa amarela... Vê que nem morrendo esqueci as camisas bonitas de que você gostava?
Aí estão os seus isqueiros, beijei um por um naquela noite entre lágrimas. Beijei um a um antes de embrulhá-los nessa caixa. Queria que meu beijo fosse para você o fogo da vida que me abandona.
Deixo tão pouco para você. Queria deixar mais além de todo o meu grande amor, toda a minha ternura, mas você é orgulhoso e isso iria "doer".
Me perdoe, amor de minha triste vida. Eu não queria que você me visse morrer. Feia. Feia. Queria que guardasse no seu coração a minha imagem como me viu na primeira vez. Como a Paula que o procurava desde que a primeira estrela foi criada. Não queria que me visse feia como me contou do desaparecimento de sua avó. Tinha certeza que quando você soubesse da causa, perdoaria tudo que fiz e transformaria o ódio passageiro na mensagem de amor que sempre foi o nosso amor.
Adeus, meu amor, meu querido e único amor.
De onde estiver, para onde for, estarei sendo sempre a sua Paula, Paule. Paule. Pupinha, Pô e
Toujours."
Não conteve um gemido cruel e se o coração não rebentou de um ímpeto é porque o coração não é apenas um coração de vidro pintado, como dizia o poeta.
Encostou a carta contra o rosto e ficou por um momento se acariciando contra as mãos vivas de Paula.
De longe vinha uma voz metálica:
"O câncer é apenas uma proliferação de células".
Era o professor no curso de Medicina. Apenas uma proliferação de células. Células e morte. Morte e adeus. Somente isso...
Voltou como um autômato para perto da Lady Senhora e jogou-se esmagado sobre a poltrona.
Ela entreabriu os olhos e divisou a palidez do rapaz.
Sorriu brandamente.
- Pode chorar. Chorar faz bem.
Mas ele tinha como que se endurecido. Controlou-se todo.
- Eu chorarei depois. Agora aceitaria um cigarro.
Ficou seguindo as volutas do fumo no salão encarcerado.
- A senhora poderá ler a carta. Estendeu a mão oferecendo-a.
- Não é preciso. Eu ajudei Paula a escrevê-la.
Mantiveram um instante de silêncio, mas ela tinha pressa em liquidar o doloroso assunto.
- A outra parte delicada da questão. - Abriu o envelope maior. - Aqui tem a escritura do apartamento.
Sentiu um choque atacá-lo na alma.
- Que apartamento?
- Onde o senhor reside. É seu. Paula o comprou faz muitos anos, em seu nome. Eu sabia de tudo.
Então agora se dissolvia outro mistério. Nunca os aluguéis do seu apartamento subiam quando o de todo mundo aumentava.
A voz firme e agora dominadora da Lady Senhora continuava a conversa.
- Na administração do prédio, no escritório melhor dizendo, o senhor poderá retirar um acúmulo de aluguéis que o senhor pagou. É tudo produto do seu trabalho. Aqui também está um cheque para que o senhor adquira alguma coisa para os seus índios. Está em meu nome, mas foi Paula quem o mandou.
Ficou com tudo aquilo nas mãos, desanimado sem saber o que fazer. Mas ela não deixava que falasse, parecendo adivinhar-lhe os pensamentos.
- De nada adiantará qualquer recusa sua, porque não o permitirei, meu jovem.
Tornou a tomar uma aparência insinuante e até certo ponto cruel.
- De mais a mais, como nunca mais iremos nos encontrar na vida, preciso confessar-lhe um problema meu de consciência... Como já sabe, meu jovem, Paula sempre foi satisfeita em tudo que queria. O senhor deu-lhe a felicidade que ela procurava. Ela o julgava uma criatura maravilhosa e sou-lhe grata por tudo. Porque, caso contrário, poderia enviar tudo isso ao seu apartamento e evitar a sua presença que viria remexer as chagas de uma grande ferida que quero e tento cicatrizar...
Olhou a senhora recuperando também um resto do seu orgulho.
- Depois disso, Senhora, creio que teremos pouquíssima coisa a conversar.
- Não. Ainda temos que conversar. Um pouco mais de paciência e tudo será resolvido. Por Paula, pela memória da minha filha, gostaria de saber os seus planos para o futuro.
- Darei o dinheiro para os meus índios. Irei viver entre eles como um missionário sem fé e sem batina. Porque é preciso que a Senhora saiba de uma coisa. Não foi só Paula que morreu. Nós dois estamos mortos. Mortos sem remédio algum, Senhora.
- Eu sei.
- Venderei o apartamento também para a mesma finalidade.
- Isso eu não concordo. O senhor deve conservá-lo como um patrimônio para uma eventualidade qualquer.
Calou-se, prometendo pensar no assunto mais tarde e com mais vagar.
- Ainda temos dois pontos a conversar e creio que é só. Quero que me responsabilize sobre o ódio que teve contra minha filha. Sou eu a culpada. Metade dos seus quadros nas exposições, era eu que os mandava comprar sem que Paula soubesse. Comprava em nome de pessoas conhecidas. Quando Paula sabia que estava doente, fui eu que estabeleci os planos todos, de acordo com a sua conivência. Fui eu quem reuniu os quadros todos e os enviou ao porão da casa da praia. Comprei os seus quadros não pensando no mérito deles e sim na felicidade que daria a Paula: confesso o meu pecado e me penitencio de coração.
Ergueu-se e continuou adivinhando os seus pensamentos.
- Meu amigo moço. Quando a gente não ajuda a matar as ilusões a vida se compromete a destruí-las uma a uma, com o passar do tempo.
Encaminhou-se a seu lado para junto da porta.
- Ainda há isso.
Apanhou sobre um móvel antigo o pacote dos isqueiros.
- Que destino pretende dar a isso?
- Justamente isso: dar. Darei aos índios também.
- Gostaria de conservá-los. Mas para que? Paula também gostaria mas já que não os guardará é melhor que os distribua entre seus amigos selvagens.
- Guardarei um como lembrança até meus últimos dias. O resto era apenas um capricho de Paula para me fazer feliz.
Olharam-se nos olhos como se aquele adeus definitivo nada significasse para ambos.
Os dedos abriram-lhe a porta. Beijou-lhe as mãos com respeito e saiu. Saiu na certeza de que daquele momento em diante, para onde quer que fossem os dois, estariam caminhando cada um para o seu enterro..."
A brisa vinha mais forte do mar. Uma mão carinhosa tocou nos seus ombros derreados na cadeira de rodas.
- Mas meu santinho, são horas de ficar na rua, nesse tarde da noite?
Era o corpo cheiroso de Turga, maravilhosa a qualquer momento no corpo de flores, no corpo jardim.
- O vento do mar me fez adormecer.
- Eu empurro você.
- Veio cedo hoje.
- Foi rápido. Um bobo de um estudante sem saber de nada. Sabe, meu santo, que você é o meu "melèzinho" de sorte. Quando saio sem ver você, as coisas nunca saem muito bem.
Riu gostoso e começou a empurrar a cadeira de rodas.
- Deixe que eu empurro.
- Por que? Já lhe disse que a luta hoje foi muito fraca. Conversavam como velhos amigos e cheios da mais simples intimidade.
- Turga, você nunca traz ninguém pra cá?
- Trago não. O lugar é muito sujo. Diminui o preço. Eu tenho um "refúgio" num "castelo" que a gente racha entre amigas.
Ficou pensativa enquanto procurava lentamente carregar a cadeira de rodas por entre os lugares menos esburacados da calçada.
- Bem que podia morar num lugar de menos bagunça. Mas eu estou começando a fazer um pé de meia pra sumir daqui.
- Pra onde, Turga?
- Prô Rio.
Depois lembrou-se de uma coisa.
- Você está ali desde que saí?
- Estou sim. Peguei no sono. Está começando a me aparecer um cansaço que vai aumentando... Me dá uma soneira danada.
- E ficou sem comer esse tempão todo? Você nem num jantou, num foi?
- Tomei chá com uma senhora linda. Num salão perfumado, onde havia um piano negro com um xale espanhol cheio de flores, parecido com você.
- Tá dando minhoca nessa cabecinha. Onde já se viu tudo isso numa rua imunda como essa?
- Se eu não pudesse sonhar, Turga, que ia ser da minha vida?
Ela ficou comovida.
- Como é que era o xale espanhol?
- Assim mais ou menos como aquele seu vestido de fundo preto com ramagens vermelhas.
- Então devia de ser lindo.
- Antigamente eu gostava muito de flores. Sobretudo de rosas amarelas. Passei muitos anos colocando, no Finados e no Natal, dessas rosas no túmulo de uma mulher...
Turga viu que ele entristecia. E começou a mudar a conversa.
- Nunca vi mesmo uma rosa amarela. Mas você me deu uma idéia: amanhã vou caçar um vestido que tenha rosas amarelas. Como é que elas ficam mais bonitas? No branco ou no preto?
- Eu acho que no branco elas ficam mais vistosas.
- Então vai ser assim. Chegamos. Espere que eu ajudo a subir o degrau. Quem é que sobe você nas outras noites?
- Fico esperando e quando vejo alguém de rosto simpático eu peço: "o senhor não quer me dar uma mãozinha para subir esse degrau?"
- Vou lhe deixar no quarto, tomar um banho para lavar o pecado do corpo, depois venho lhe trazer um sanduíche cum café.
Subiu a escada compassadamente, batendo com os saltos altos nos degraus soturnos, rolando a correntinha da bolsa contra o pulso.
A sua tremenda luta era dirigir-se ao banheiro, caminhando nas muletas. Depois colocava um tamborete embaixo do chuveiro, retirava as calças, abria a torneira, sentava-se e punha as muletas contra a parede, vendo que não se molhassem muito. Depois, arrastava o banco com dificuldade para fechar o chuveiro. Enxugava-se e tornava a voltar para o quarto. Chamar aquilo banheiro era o cúmulo. Nem nos hotéis ingênuos poderia existir tanta sujeira. Ainda tinha sorte de ter aquele e a paciência dos outros moradores em esperar que ele acabasse tudo, sem reclamar.
Voltava ao aposento e barbeava-se defronte a um espelhinho, mergulhando o pincel e o aparelho de barbear numa cuia de cuité. Tudo devagar, sem pressa nenhuma, porque a eternidade era muito grande.
Sentava-se na cama e polvilhava as virilhas com talco para que com o calor não ardessem tanto. Observava a deformidade do corpo. Porque a gordura e a posição sedentária em que vivia, tinham acumulado uma capa amolecida sobre o ventre e arredondado os peitos. Em compensação as pernas se transformavam em um compasso magro e amarelado que escondia o sexo morto se arroxeando com o passar do tempo.
Tornou a vestir-se e puxou-se para junto da mesa de cabeceira onde, num lugar vago que deixava de propósito, escrevia ou desenhava. Seus desenhos eram invariavelmente a repetição dos mesmos motivos. O quarto, as muletas, a moringa perto das muletas. A cadeira de rodas perto da moringa e às vezes os três juntos. Desde que Paula se fora deixara, perdera o gosto de desenhar. Só uma vez conseguiu fazer um desenho do rosto de Turga. Ela se achara tão linda, que pedira o desenho, lhe dera um beijo na testa e o fora pregar no tabique do seu quarto...
Estava imbuído no seu mundo de sombras quando a porta do quarto estremeceu com batidas de nós de dedos.
Quem seria agora? Ainda era muito cedo.
- Entre.
A porta entreabriu-se devagarinho e um rosto sorrindo apareceu. Era um raio negro de sol e vida. Correspondeu ao sorriso.
- Bom dia, meu belo príncipe. Entre mesmo.
O rosto do crioulinho reluzente aumentou o branco dos dentes.
- Sou príncipe não. Sou é Dito.
Veio se aproximando da cama. Ab puxou as cobertas sobre as pernas.
- Sente-se aí nesse banquinho.
O Dito fez sem a menor cerimônia.
Analisou o menino com encantamento. Poderia no máximo ter nove anos. Era um negrinho forte, luzidio, com uns olhos expressivos e inteligentes.
- Pois pra mim, você é um príncipe.
Ele girou os olhos em volta estudando o ambiente.
- Que é que o príncipe deseja? A que veio, enfim?
- Seu Talamiro me mandou aqui. Acha que eu poderia trabalhar prô senhor. Comprar as coisas, varrer o quarto, empurrar a sua cadeira, ajudar o senhor a ir prô banho.
Riu-se da idéia. Não era má e o que iria querer de ordenado o pretinho? Muito não poderia ser.
- Que idade você tem?
- Bem nove.
- E a escola?
- Pois aí é que está. Eu vinha de manhãzinha, fazia tudo e levava o senhor para dar umas voltas. Quando fosse meio-dia, ia prá escola e quando fosse cinco horas voltava para fazer o senhor passear mais, até sete hora.
- Pra que tudo isso? Você quer ajudar sua mãe?
- Tenho mãe não, seu Reimundo. Sou criado por Vó.
Ficou com mais pena do que se ele estivesse falando da mãe com muitos irmãos. Revia-se menino de rua com a caixa de engraxate sonhando com entradas de cinema.
- Mas você não é muito novinho para trabalhar?
- Eu trabalhava prá outro que nem o senhor.
- Como eu como? Assim de cadeira de rodas?
- Foi sim. Mas ele não era rico que nem o senhor, não. A cadeira de roda dele era feita que nem um carrinho, de caixão, e as rodas de madeira. Dura demais de empurrar. E fazia uma zoada que chamava a atenção desde o começo da rua. Quer?
Os olhos imploravam com uma doce piedade e a boca entreaberta ansiosa esperava a resposta. Menino pobre! Sua hora era de reinar a infância. Soltar papagaio, pegar carona nos lorés enfezando o condutor. Aperrear os cegos nos mercados, jogando pedrinhas de seixos dentro da cuia de cuité, para que eles acordassem cantando o agradecimento e em seguida descobrindo o logro, gritassem assim: fela da puta de muleque! Menino pobre, sem reinar a infância em cima das mangueiras, contando histórias para os galhos. Sem jogar peladas nos terrenos baldios ou nadar no rio sem roupa nenhuma...
- E pra fazer tudo isso, o que você quer de ordenado?
- O que o senhor quiser dar.
- Quanto o outro lhe pagava?
- Trinta e cinco mil cruzeiros. Fez os cálculos das finanças.
- Dou cinqüenta. Está bem?
O quarto foi iluminado pelo tamanho do seu sorriso e brilho dos olhos. Mas o sorriso foi diminuindo e nova ansiedade apareceu em seus traços.
- O que foi agora?
- Duas coisa, seu Reimundo. Não sei se o senhor topa.
- Topo sim.
- Sem saber?
- Sem saber.
- Mas vou lhe contar. Só que nos sábados, eu preciso sair três horas da tarde; estou na aula de catecismo e logo vou me comungar.
- Muito bem! Está certo.
- E a segunda, se Vó aparecer aqui queria que o senhor dissesse que eu só ganho trinta e cinco mil cruzeiros... Pode?
- Malandrinho!...
- Senão ela toma tudinho.
- Está bem, prometo. Que é que ela faz?
- Frita peixe na feira. Faz cuscuz, pamonha de milho verde e um bocado de bagana para vender. Levanta quatro hora da manhã e já quer que a gente abra os olhos.
- Está certíssimo. Estamos combinados.
- Posso começar já?
- Não.
Notou o desaponto de Dito e sorriu.
- Quer dizer, você já está trabalhando. Já começa a ganhar de hoje. Mas quero combinar uma coisa com você também, tá?
Pôs as mãos sobre o colo e adquiriu uma expressão de seriedade que até fazia com que se acreditasse de novo nos homens como coisa salva.
- Bem é o seguinte: você sabe nadar?
- Desde pequeninho.
- Joga futebol?
- Sou doidinho prá isso.
- Gosta de cinema? De filme de índio e de vaqueiro?
- Se gosto, seu Reimundo.
- Que" dia é hoje?
- Quinta-feira.
- Na próxima quinta-feira você me aparece aqui às sete e meia. Agora, pegue isso.
Meteu a mão na gaveta e tirou cinco mil cruzeiros.
- Pegue isso e conte para a Vó que você já está trabalhando para mim. Isso é presente. Não é ainda pagamento. Mas nessa semana, você vai fazer tudo que der vontade. Vai reinar. Sabe o que é reinar?
Não estava entendendo bem.
- Reinar é trabalho de príncipe. Não fazer nada. Reinar é nadar, roubar manga, jogar bola, empinar arraia... Tudo isso. Tome cuidado para não morrer afogado e nem se machucar.
Os olhos do menino estavam arregalados. Perguntou sem acreditar:
- O senhor é leso da bola?
- Coisa nenhuma. Mas se você não fizer tudo isso nessa semana e não contar nada para a sua Vó, pode aparecer quinta-feira.
Dobrou o dinheiro e colocou no bolsinho da calça.
- Agora venha cá, Dito. Olhe bem nos meus olhos. O menino obedeceu, meio amedrontado.
- Veja que não quero lhe fazer nenhum mal. Só quero que você tenha uma semana de felicidade. Estou fazendo isso sabe por que?
- Inhor, não.
- Porque eu fui menino pobre. Tão pobre quanto você. Agora vá. Foi saindo devagar, abriu a porta e deixou o seu rosto de raio negro
de sol aparecendo.
- Té-logo, seu Reimundo. Muito obrigado. Ameaçou-o com o dedo em riste.
- Té-logo não. Até quinta-feira próxima, meu belo príncipe.
Conservando sempre a proporção da metade, as coisas pareciam ter melhorado para Ab. Dito era como um tiziu alegre trazendo gorjeios, se se podia dizer assim de um tiziu. Mas fosse o que fosse: um tiziu, um príncipe, um anjo, um raio negro de sol, a verdade bem verdadeira é que sua vida adquirira uma certa alegria. Não fosse também a gordura que construía agora em seu rosto uma certa papada e arredondava cada vez mais os peitos e o ventre; não fosse aquele cansaço cada vez maior que lhe tomava o ânimo ou a sonolência que vivia pesando no seu olhar, ultimamente meio sem brilho, poderia dizer que recuperava uma pequenina parcela de alma destruída,
No mais Dito era um tirano convincente. Obrigava-o a fazer tudo que sentia vontade. Tinha uma certeza absoluta de tudo que desejava conseguir. Vinha com o seu sorriso manso e brilhante e anunciava: o senhor precisa fazer isso, na certa era ele quem precisava mais. Tomara a rédea de sua vida como um homenzinho decidido. Tinha-lhe uma dedicação extraordinária procurando adivinhar-lhe os desejos ou provocar nele um sorriso. Suas conversas de menino vivido e sofrido tornavam-se saborosas porque apesar de tudo, ainda conservava um quê de anjo e de infância.
- Olhe, seu Reimundo, quando seu Bilisário vinhé cortar o seu cabelo, não vou deixar que ele corte assim que nem preso não.
Ficou espantado.
- Por que, Dito?
- Porque eu "preciso" que o senhor não corte mais o cabelo assim. Onde já se viu um cabelo bonito assim ser estragado. Se o senhor visse lá nos mocambo onde a gente mora, a negrada alisando o pixaim para ficar de cabelo bonito e o senhor fazendo o contrário.
Sorriu. Pois já tinha decidido.
- Mesmo faço questão que o senhor fique bonito porque eu preciso uma coisa.
- Está bem, meu príncipe, você é quem manda.
- Amanhã também a gente vai dar um passeio muito grande.
- Dito, não invente muita coisa. Depois eu fico muito cansado.
- Fica sim. Mas se o senhor andar mais um pouco cada dia, vai acostumando e depois melhora o cansaço.
- Onde você quer me levar?
- Na Rua Nova. Vamos atravessar um pouco a ponte.
- Você está louco! Atravessar ruas. Eu não posso mais fazer isso. Ele teimava.
- Pode sim. Eu "preciso" ver uma coisa lá. O senhor precisa ver o rio de manhã, cheio de barco de gente que vai fazer regata.
- Dessa vez não vou, Dito. Você sempre faz de mim o que quer, mas dessa vez não vou.
Ele veio circunspecto para perto do seu rosto e imitou uma sua frase:
- Olhe bem prá mim, seu Reimundo. Eu não quero lhe fazer nenhum mal. O senhor precisa ir sim, porque é para o bem da gente: do senhor e do meu bem. Viu?
Demônio de menino que o desorientava e o fazia perder a personalidade. Engoliu em seco.
- Despois, não tem perigo nenhum. A gente sai daqui, pega a Duque de Caxia, fala com o guarda e ele pára o "transo" e a gente passa. Já conversei ontem com o guarda que é meu amigo. A gente pega, vai pela Rua Nova. Lá tem outro guarda amigo que dá um apito e pára de novo o "transo". Pronto. Na volta a gente faz a mesma coisa.
Ficou calado sem saber o que dizer. Não fazia ainda três meses que o garoto trabalhava para ele e já começava a sentir apego. Não queria mais isso na vida, porque se ele lhe faltasse um dia, ia ser terrível.
- Ficou zangado, seu Reimundo? Balançou a cabeça negativamente.
- Então é porque ficou triste. Se é assim a gente não vai.
- Não, meu filho. Não é nada disso. Amanhã a gente vai passear e ver tudo que você "precisa".
- Seu Reimundo, então a gente é amigo de novo. Sorriu aliviado.
- A gente nunca deixou de ser.
- Porque ainda não acabei de falar o que o senhor "precisa", Meu São João do carneirinho nas costas! O menino aprendera
todos os seus métodos de persuasão.
- E daí?
- Daí agora eu preciso ter uma conversa como o senhor diz, de homem para homem.
Pronto! Já, já os céus desabavam ante tanta decisão e tamanha audácia. Não precisou se revestir de paciência porque sabia que no íntimo estava gostando daquilo tudo.
- Então puxe o banquinho para perto porque conversa de homem para homem não pode ter muita distância.
Ele obedeceu e tomou pose.
- Eu pensei muito nisso. Uma purção de dia que venho pensando nisso. Cunversei outro dia cum seu Talamiro e ele me disse que o senhor queria ir trabalhar na costura com ele. É verdade.
- Sim.
- Não acho bom nada disso. O senhor não pode subir escada. Despois se for morar lá em cima, vai ser uma dificuldade danada para descer.
Fez uma pausa. Não era possível: estava dando topadas na própria meninice, onde sabia ter um discernimento fabuloso dos problemas dos grandes. O demoninho tornava-se uma mistura dele mesmo com os anjos teimosos e morenos comendo goiabada.
- Pensei numa coisa mais fácil. Até já fui falar lá. É preciso que o senhor venha comigo, para ficar conhecido lá. Depois eu mesmo posso ir sozinho lá.
- Dito, que diabo de tanto lá. Que história é essa de lá?
Ficou mais sério como quem fosse jogar a cartada mais difícil. Ab sentiu-se até temoroso com o que estaria se passando no coraçãozinho do crioulo.
- "Lá" é a Agência de seu Everardo. Um senhor muito bom e muito meu amigo. É lá que eu ia buscar os bilhete de Loteria de... do outro.
Sentiu um arrocho na alma. Será que tinha ouvido bem? Ele queria que fosse vender bilhetes de loteria. Afundou-se para trás na cama, sentindo uma zoada incômoda nos ouvidos e as mãos começavam a ficar geladas.
Dito continuava impassível. De repente levantou-se e apanhou uma caneca d'água na quartinha.
- Tome que o senhor melhora. Isso passa logo.
Obedeceu e começou a beber largos tragos, para engolir a emoção. Se fosse um ser completo como antigamente, num momento desses, estaria com os olhos cheios d'água. Conseguiu dominar-se.
- E para que tudo isso, Dito?
- Porque o senhor precisa. Porque eu preciso. Todo mundo tem de precisar fazer alguma coisa na vida. Vó diz que é assim mesmo. Vida tem que ter "trabaiêra". Num quero ver o senhor sempre cochilando como se não quisesse fazer nada.
Entregou a caneca. Ouviu que Dito a depositava sobre a mesinha. Voltou à sua antiga atitude, no banco.
- Sabe, seu Reimundo vivo morrendo de medo que o dinheiro do senhor se acabe. Pensa que eu não vi como a lata de biscoito Aymoré está começando a ficar vazia? E o senhor que é que vai fazer se não arranjar mais dinheiro para encher ela? Foi por isso que eu fui lá. Agora que é muito melhor vender bilhete do que ficar sentado naquela sala que tem cheiro de barata, ouvindo seu Talamiro toda hora assoar catarro; isso tenho certeza de que é.
Levantou-se. Aproximou-se mais da cama.
- São seis horas. Tá começando a ficar de noite. Cumo eu sei que "hoje" o senhor não quer passear, vai ficar mastigando a conversa e eu já vou indo.
Era sem dúvida um homem decidido e honesto.
- O senhor fique matutando muito na coisa. Tem uma noite para resolver.
Pegou no rosto do menino com as duas mãos.
- Você pensa em tudo, não meu filho? Muito obrigado. Vou pensar.
Ele se afastou sorrindo e escondeu o corpo no vão da porta, só deixando o rosto.
- Precisa pensar muito não, porque amanhã eu venho meia hora mais cedo para a gente sair logo e ir até lá.
Pronto! Ganhara a partida. Estava decidido.
- Té manhã, seu Reimundo. Parodiou o Hamlet:
- Good night, Sweet Prince.
Rolou a noite inteira na cama, sentindo as cobertas esquentarem muito contra o corpo pois que o verão se tornara insuportável. Mas não era essa a razão. E sim o choque recebido com a proposta de Dito. Era enternecedor o cuidado que tomara por si. Ficava meio chocado pensando em vender bilhetes. Todo mundo vendia alguma coisa no mundo. Turga, o belo corpo e suas flores de vida. Ele, venderia a ilusão de felicidade. Não era tão ruim assim vender ilusões aos outros. Talvez a metade de um sorriso da metade da face de Deus. Era isso. Tudo proporcional ao seu aleijão. Afinal não significava aquele falso pudor uma sintomatização do amor-próprio e orgulho? Iria. Não podia ser pior do que limpar sujeiras de índios doentes ou feridas apodrecidas de tantos seres humanos. Iria sim. Dito era um anjo. Sabia de tudo, até do dinheiro guardado na grande lata de biscoito Aymoré. Tantos anos ficara longe de Recife. Tão longe se encontrava da sua mocidade que não seria reconhecido. E se o fosse, paciência. Precisava fazer alguma coisa. E a vida, o que era a vida? O que valia a vida? Nada. Absolutamente nada. Talvez pelos momentos de paciência e bondade, quando estas ainda se desenvolvem no coração.
Foi com alívio que apareceu a manhã amornecida. Foi com certa expectativa que esperou a chegada de Dito. Ele surgia no maior de sua elegância. Camisa de xadrezinho azul dentro das calças. Calçado de meias com elástico vermelho e sapatos bem engraxados.
E foi assim que principiou a volta de Frei Abóbora ao contacto do povo.
Ficava agora atordoado com o movimento das ruas e da cidade despertando. O coração havia se encolhido um pouco com medo de tudo. Mas foi.
- Por isso, Dito, que você não queria que eu cortasse o cabelo?
- Era. O pessoal gosta de gente de cara bonita. O outro era um pouco relaxado, por isso não vendia muito. Mas o senhor não. É bonito e diz coisas que agrada tudo que for de gente.
Empurrava sua cadeira com orgulho de homenzinho decidido; certo de que empurrava o aleijado mais bonito do mundo. Criança formidável I Que além disso tinha outros planos não haveria dúvida. Iria logo descobri-los.
- Dito, por que você quer que eu ganhe dinheiro? Ainda tenho o suficiente para viver alguns meses.
A voz vinha alegre detrás da cadeira caminhante.
- E quando se acabar aquele? Assim é melhor. Despois, seu Rei-mundo a vida tá ficando danada de cara. O senhor não ia poder me aumentar, ia? Pois então. Assim eu fico junto do senhor quando não tiver que ir na escola e forço o povo a comprar. Eles sempre me dão o troco.
- Você o que é, é um danado de um negociante. Mas gosto de ver sua honestidade e capacidade para viver. Você vai ser um homem muito bom, meu príncipe.
Não enxergava mas sabia que o seu rosto irradiava felicidade quando o tratava assim.
- Por que você faz questão de ganhar mais dinheiro, Dito?
- Todo mundo faz. Despois, Vó vive alisando meu bolso. Num pode ver nada. E eu... Vou fazer a Primeira Comunhão daqui a um mês certinho. Todo mundo vai fazer roupa branca novinha, comprar fita com franja dourada e tirar retrato.
- E você?
- Seu Talamiro faz uma roupinha prá mim, bem barata e posso pagar de muitas vezes.
Parou súbito a cadeira.
- Que foi?
- Tava pensando, seu Reimundo. Será se eu for lá fardado de Primeira Comunhão, o fotógrafo tira meu retrato?
- E por que não?
- Porque sou um crioulinho pobre.
- Que tira, tira. Eu vou até com você. Quero ver por que não tira Ora essa. Não existe racismo no Brasil.
- O senhor é a primeira pessoa que vou dar meu retrato. Sabe que eu nunca tirei um, seu Reimundo?
- Pois fique certo que vai tirar e quem vai pagar os retratos sou eu.
Tornaram a caminhar. A cadeira deslizava mais macia porque ali as calçadas da cidade eram mais conservadas.
Precisava descobrir os fregueses que compravam; com o pequeno tempo já estava aprendendo. Precisava, e isso era mais importante, aprender a agradecer. Como naquela peça de teatro onde o "Deus lhe Pague" se tornava o essencial de tudo.
- Não quer um, moça? Só um galinho. Pode ser um Galo de Ouro que anuncie o raiar da sua felicidade.
A moça acreditava na bondade dos seus olhos, ficava com pena e comprava uma fração. Destacava o pedaço e com um sorriso agradecia.
- Mesmo que a senhora não tire nada, de coração gostaria que a sorte fosse toda para a dona.
Dito estendia a mão e sorria como só ele sabia sorrir.
- Compre, meu senhor. Só para ajudar o aleijadinho. Comprava e dava o troco para ele.
Havia as horas de estagnação. Onde o movimento das ruas era menor. Ficava sempre perto da ponte sobre o Rio Capibaribe vendo a vida embaixo. Sobretudo as ioles com os remadores do Náutico. O vento vindo do rio fazia-o cochilar. Era uma felicidade quando alguém pedia nem que fosse para olhar a lista dos prêmios. Sorria agradecido e dali podia sair uma compra.
Somente quando Dito voltava da escola, é que sua solidão diminuía. Tanta gente passando e ele sozinho, prisioneiro da sua cadeira de rodas. Nem parecia que ele era gente e parte do mundo. Mas quando Dito chegava era uma festa.
- Vendeu muito?
- Acho que cochilei mais do que vendi. Mas foi bom.
- Corre hoje, minha gente. É cobra, jacaré e elefante. Pode ser que seu dia esteja aqui na minha mão. Vamos, dona, não quer? Obrigado. E o senhor distinto cavalheiro, nada hoje? Obrigado. A velhinha queria tirar a sorte grande e ele não sabia porque. Vamos, Vovó, a sorte está aqui escondidinha na tromba do elefante. Ajude os pobres.
Destacava a fração e agradecia. Virava o rosto procurando gente que comprava e soltava a sua vozinha musical de raio de sol negro. - Ajudem meu aleijadinho, minha gente. Obrigado, dona...
Às vezes ficava na sua solidão vendo a humanidade caminhante. Que angústia teria aquele pessoal todo? Ficava desanimado voltando a pensar no fracasso de Cristo. Cristo tão longe. Cristo nunca atingiria as massas por mais que se propagasse isso. Cristo era aculturação. Cultura de elite, como qualquer cultura. A angústia de salvação daquela gente era pegar um bonde mais vazio, um ônibus menos apertado, menos suado naquele calorão todo. A angústia de salvação daquela gente era saber se o dinheiro no fim do mês daria para pagar as contas. O feijão, o arroz, a farinha, a carne verde, a carne-seca, a carne-de-sol... Que outro tempo lhes sobrava para pensar na salvação da alma ou no terreno da revelação de Cristo? Aprendiam as coisas e de acordo com a quantidade limitada de inteligência, admitiam Deus, acreditavam no Cristo. Seguiam as instruções da Igreja, indo à missa e fazendo a Páscoa uma vez por ano. E o resto? O céu, o inferno e o purgatório. Que amplidões teria tudo isso para eles? Possivelmente a idéia de inferno era fogo que queimava como se fosse uma grande cadeia. O céu? Como imaginá-lo? Como uma sessão comprida de cinema, num domingo. O purgatório, talvez a continuação da mesma vida dolorida e sem conforto. O bonde cheio, a trouxa de roupa, o dentista a quem não podia pagar, o trem superlotado e atrasado... E o Cristo? O Cristo ficava com a elite, com os que tinham tempo e conforto para pensar, meditar, usufruir os seus confortos...
Dali passava para um ponto mais distante. Cristo estava tão distanciado das massas, que " própria Igreja modificava as coisas, violentava as tradições, facilitava tudo. Missa podia ser a qualquer hora. Comunhão, nada de ficar em jejum depois da meia-noite. Podia-se agora comer até uma hora antes da missa... Era preciso a igreja chegar mais ao povo pára que não fosse ficando cada vez mais abandonada. O problema seria só dos católicos? e os budistas? e os confucionistas e o mundo complicado e extenso das diversas religiões? Todos deveriam sofrer as mesmas conseqüências da distância das raízes. A verdade é que o homem, com qualquer fé ou crença, continuava sozinho, sozinho como ele, jogado no meio de uma multidão, mas com a sua alma, a sua alma presa ao seu corpo. Unicamente ao seu corpo. Não havia religião alguma que conseguisse tirar do homem a condenação de Santo Agostinho; a noção da solidão completa de quem nasce e vive...
- Jurava que conhecia o senhor.
Sorriu. O homem estava meio velho, gordo e calvo, mas lembrava-se dele. Podia até rememorar o lugar e o ano em que o conhecera. Numa pensão da Rua do Hospício. Não podia precisar o número. Mas moraram vizinhos pelo menos durante seis meses.
- Acho difícil, doutor.
- Como sabe que sou doutor?
- Pelo jeito do senhor ser.
- De fato, sou médico. Cocava o queixo intrigado.
- Mas como o senhor se parece com ele. Naturalmente mais velho. Devagar disse o seu nome sem errar e fixou o rosto de Ab. Nenhum músculo se mexia que o delatasse. Ao contrário sorriu.
- Eu me chamo Reimundo - carregou bem no E - Reimundo Amorim da Silva, sou lá do norte de Goiás. Num acabei nem meu curso primário, doutor.
- Ora vejam só. Pois nunca vi ninguém tão parecido com ele.
- O senhor não sabe que fim ele levou?
- Deixou os estudos e foi para o Sul. Nunca mais tive notícias. Também a vida passa tão ligeira que a gente vive se perdendo dos outros.
- Que isso é verdade, doutor, nem tem dúvida. Sorriu com mais simpatia e falou sem se "doer".
- Doutor, não quer comprar um bilhetinho? Só para ajudar o aleijado. Compre nem que seja pensando na saudade do seu amigo que se perdeu.
- Vou comprar. O que me aconselha?
- O inteiro do jacaré. Jacaré é um bicho tão lindo. Na minha terra ele limpa toda a doença dos rios, comendo o que faz mal ao homem. Jacaré é o verdadeiro médico do rio.
Gostou da filosofia do vendedor. Comprou, sorriu e saiu.
Ab ficou de olhos perdidos no passado vendo aquele homem só, aquele homem caminhando no meio da multidão.
Foi a primeira sorte grande que vendeu. Dito ganhou a roupa, a vela, a fita branca com franja dourada. Só ficou devendo o retrato mas ainda estava longe o dia da primeira comunhão.
- Seu Reimundo, será que é verdade?
- O que, meu príncipe?
Vinham voltando para casa e a noite já estava madura.
- O que o padre disse da primeira comunhão.
- Que foi que ele disse que impressionou você assim?
- Disse que é o dia mais lindo da vida da gente. Que quando Nosso Senhor Jesus Cristo entrar no coração da gente, que dá uma felicidade tão grande que ninguém pode contar.
Mergulhou no passado antes de responder. Também Tia Raquel lhe dissera a mesma coisa. Também o padre lhe falara da mesma maneira. A lembrança doía. Porque na realidade ficava sempre sobressaindo sobre tudo de belo que cria naquela época, a voz de irmão Justino:
"Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos"...
Era preciso não tirar a ilusão de ninguém. Sobretudo do crioulinho. Mesmo porque ele agora não passava de um camelot da felicidade vendendo ilusões em forma de bilhetes...
- É verdade sim, meu filho. É o dia mais bonito da nossa vida. O coração fica tão feliz que parece não caber no peito.
- No meu também?
- Por que não no seu? Jesus não faz diferença de cor. E mesmo porque todos os corações são iguais. Você tem o seu tão forrado de bondade e de beleza que Jesus vai se sentir muito bem lá dentro. Sabe por que é o dia mais bonito da nossa vida, Dito?
- Bem mesmo não sei, não senhor.
- Porque é o momento exato em que o menino começa a virar homem. Começa a prometer dentro do coração, recebendo a visita de Cristo pela primeira vez, que seguirá todo o caminho da bondade e do bem que Ele descobriu.
O menino ouvia em silêncio, enquanto empurrava a cadeira.
- Você nem precisa prometer isso, meu príncipe, porque você é todo feito de bondade. Só precisa confirmar na hora, a vontade de continuar a ser como sempre tem sido. Isso é a maior felicidade que um homem pode ter.
- Seu Reimundo, o senhor fala tão bonito, que a gente fica acreditando mais no senhor do que em todo mundo. Quando o senhor me fala assim eu fico com uma vontade danada de chorar, sabe?
Aproximou-se da cadeira de rodas. Ficou um momentinho com pena da cabeça do aleijado pendida sobre o pescoço, adormecida. Os bilhetes coloridos tinham-se soltado das mãos e jaziam sobre as pernas envolvidas na manta. Como conseguia adormecer no meio da rua, com gente passando a seu lado, com o ruído dos carros e dos ônibus? Felizmente o povo era caridoso e não mexia com ele.
- Quem dorme no ponto não ganha dinheiro.
Levantou depressa o rosto se recompondo e deu com Turga lhe sorrindo o mais bonito sorriso da tarde.
- Peguei no sono.
- Nem precisa dizer.
Ela ajudou a ajuntar os bilhetes e deixou que ele os segurasse novamente.
- Essa hora na rua, Turga?
- São bem quatro. Num tá notando nada de nada?
- Ah! O vestido de rosas amarelas com fundo branco. Ela deu uma volta vaidosa girando a bolsa.
- Que tal?
- De dar inveja às outras rosas.
O seu sorriso ficou ainda mais bonito e seu rosto iluminou-se de prazer.
- Nem güentei esperar trazer ele prá casa: vesti mesmo na costureira. O outro tá aqui, dentro da bolsa. Pensei comigo que a primeira pessoa que devia de ver ele, era meu "melèzinho". Pois aqui estou.
- Valeu a pena. Ficou uma lindeza!
Foi quando ela notou que ele quase nada tinha vendido.
- Que é isso, meu santinho. Não vendeu quase nada e já é tão de tarde.
- Peguei no sono, Turga. Ultimamente ando cada vez mais cansado. O calor, o vento fresco, o barulho começam a me entontecer e acabo dormindo. A verdade, Turga, é que estou começando a dar o prego.
- Besteira. Não quero escutar dessas coisas.
A verdade é que o coração de Turga doía em ver um homem tão bonito, tão fino, preso numa cadeira de rodas, vendendo, como quem pede esmola, um pedacinho da sorte. Desgraçada é que era a vida...
- Cadê o príncipe?
- Vem já. Dentro de uma hora mais ou menos. Se não fosse a freguesia que ele fez nos bares, nos cafés e nas casas comerciais, acho que essa tarde não teria vendido nada.
Turga teve uma idéia.
- Você é meu "melèzinho" prá dar sorte. Vamos ver se eu dou sorte prá você. Segure minha bolsa. Vai ver só.
Afastou-se dois metros da calçada, gingou o corpo com vontade. Suspendeu as mãos e bateu palmas. Levantou a cabeça encaracolada de uma maneira tão selvagem que as grandes argolas douradas balançaram-se qual dois pêndulos. Abriu a boca e soltou uma voz redonda e macia, quente e convidativa.
- Se chegue, meu povo, que Turga vai cantar. Se chegue para ver que Turga vai dançar.
Com as mãos suspendeu as rosas amarelas da saia e mostrou as coxas um palmo sobre os joelhos.
Deu a louca na rua. Começou a juntar povoação. Até o guarda veio ver o que se passava e se esqueceu da vida.
Soltou o maracatu pelos espaços, fora de época, mas sempre lindo, com o corpo gingava a marcação do ritmo.
"É pau
É pedra
É seixo miúdo
Vira a baiana
Por cima de tudo."
Repetia, e o povo doido por música e sobretudo quando é música do seu velho Carnaval, começou a fazer coro.
Reimundo nem podia mais presenciar a maravilhosa figura que cantava. Juntara tanta gente que encobrira sua visão. Mas a voz firme continuava a cantar:
"A baiana é feiticeira
No lugar onde ela pisa
Faz fumaça de poeira
Fica a terra toda lisa.
É pau
É pedra..."
Os ônibus começaram a passar diminuindo a marcha e gente ficava querendo enxergar quem cantava tão bonito. Das lojas e dos bilhares gente se pendurava nas portas e nas janelas. Era um chafurdo danado.
Quando ela acabou foi aquele mundarão de palmas. Vozes pediam bis e outros gritavam elogios à lindeza de Turga. Então ela abriu passagem até a cadeira de Reimundo.
- Tudo isso é prá ele. - Voltou ao ponto anterior. E colocando as mãos nas cadeiras com uma graça de gata brava perguntou:
- Cadê os homens dessa terra? Onde está o coração e a bondade dos homens da minha terra? Me responda aí, seu moço. Me diga aí o cavalheiro distinto. Me fale aí, o ilustre senhor. Onde estão os homens? Os homens esqueceram a bondade. Vamos ver.
Foi até a cadeira e pegou as folhas dos bilhetes.
- Vocês vão deixar o pobre do aleijadinho ir embora com toda essa dificuldade, sem comprar um pedacinho?
Aí veio uma emoção em seu rosto que Reimundo não conhecia. Os seus olhos ficaram cheios de lágrimas. E a voz enrouqueceu.
- Vão deixar que o pobrezinho vá embora sem ter vendido um só pedaço?
Agora as lágrimas deslizavam quentes pelo rosto de sua tristeza.
- O senhor, moço.
O moço comprou um pedaço. Aí apareceu outro problema. O troco. Ela levantou a caixinha de charutos e abriu-a mostrando ao povo.
- Por seu favor, me dêem trocado. Ele não ganhou nada até agora.
- O coração do povo se comovia com três coisas; pelo menos naquele momento se comovia: um aleijado, as lágrimas e a mulher que as chorava.
- Ninguém quer troco não, minha lindai
- O senhor...
- O cavalheiro...
- E você minha santa?
Ia distribuindo os bilhetes e enchendo a caixinha de charuto.
Reimundo nem sabia o que pensar, nem o que dizer. Tinha certeza que ela nem esperava agradecimento.
Acabou com todos os bilhetes. Olhou emocionada para o povo e limpou as lágrimas do rosto. Então o sorriso bonito apareceu feliz.
Falou com calma:
- Obrigada, meu povo.
Chamou um menino, abaixou-se e deu um beijo estrondoso em suas faces.
- Eu beijo o menino por vocês todos. Obrigada.
Colocou a caixa de charutos no colo de Reimundo e apanhou a bolsa. Reimundo agradecia com os olhos. Ela virou-se e afastando a multidão começou a andar indiferente, como se nada tivesse acontecido. E o mais estranho foi o respeito que tiveram por ela. Deixaram que partisse à vontade, sem uma piada ou um convite deselegante.
Começaram a se espalhar as pessoas e a rua adquiria o comum do movimento. Gente continuou a jornada do dia. Os rostos se recolheram das janelas e os corpos das portas. O guarda saiu rodando o cassetete.
Junto de Reimundo só ficaram dois homens.
- Que coisa bonita!
- A morena ou a ação?
- As duas coisas, jegue.
Riram-se para Reimundo.
- Tu que tem sorte, primo.
Mas vendo a cadeira de rodas, desculpou-se.
- Me perdoe, irmão. Eu não falei por mal.
O outro continuava embasbacado.
- Que moreneza toda, meu Deus! Tu sabe o endereço dela?
Reimundo mentiu, fazendo não com a cabeça.
- Deus do céu, tu num sabe nem onde é que mora aquela flor?
- Aquela flor...
Reimundo fez uma pausa comovido.
- Aquela flor... sei sim - mora no jardim de Deus.
E novamente a sorte foi vendida naquele dia. E novamente recebeu de presente uma boa bolada, como acontecera naquela outra. Turga ganhou um vestido lindo e Dito, um par novo de sapatos.
Correu fama que o aleijadinho da Ponte vendia sempre a sorte grande; por incrível que pareça, Reimundo vendera em dois meses, um terceiro prêmio, dois segundos e dois primeiros. Daí começou a não faltar mais freguês a seus bilhetes. Contudo, toda aquela azáfama, aquele rolar pelas ruas e cruzamentos de sinais, iam aumentando a sua estafa. De noite, apesar de tantos cochilos, varava as horas num sono só. Isto ajudava a esquecer. A grande utilidade do sono, como Reimundo definia. Não fora ele, que vinha todas as noites fechar os olhos, acostumar o homem com a idéia de que o sono é um treino para a morte. Ou que a morte podia ser simplesmente um grande sono, o homem por certo enlouqueceria de pavor. Sentia no íntimo que aquela parcela de paz não poderia durar muito tempo. O coração já estava avisando lentamente:
- Cuidado, Reimundo, não esquecer que a vida é dor...
O medo atrai a desgraça. E ela veio mais cedo do que supusera.
Uma manhã Dito entrou no quarto meio escabriado.
- Não está um pouco atrasado hoje, meu príncipe? Ele disfarçou, disfarçou e respondeu:
- É que trouxe isso prô senhor. Vó danou-se para demorar a fazer.
Abriu o saquinho de venda e descobriu o cheiro gostoso que vinha dos casquinhos de caranguejo.
- Tudo isso pra mim, Dito? Vamos guardar pra comer junto com a marmita de D. Marivalda, ao meio-dia.
Dito sentou-se meio de costa espiando a moringa como se nada quisesse. Nem vontade de falar demonstrava.
- Que foi? Tem qualquer coisa de errado que você não quer contar.
Ele levantou-se e foi espiar o retrato da primeira comunhão que Reimundo pregara na parede com tachinhas.
- Gostou?
- Gostei, sim senhor. Só que eu fiquei muito preto no retrato, não acha?
Achou foi graça porque todo mundo sempre se espera melhor num retrato. O retrato não possui a capacidade de ilusão de um espelho.
- Ficou um pouquinho, porque você é muito mais bonito. Mas não deixa de ser um retrato muito elegante.
Dito voltou a sentar-se desanimado no banquinho. Reimundo observou-o com preocupação. Ele estava fazendo uma beiçolinha rara de quem quer chorar. Usou mais ternura ao falar.
- Ai, ai, ai, meus caracóis. Que se passa com você? O menino engoliu em seco.
- Você não vai no seu Everardo buscar os bilhetes? Ele abriu as mãos vazias.
- De hoje em diante num sai mais bilhete.
Seu rosto estava espremido de sofrimento.
- Os outros doentes foram fazer queixa a seu Everardo. Dissero que o senhor estava prejudicando a classe. Que todos os fregueses não comprava mais neles. E que o senhor num precisava disso não.
Ficou pensativo. Não se aborreceu tanto como o menino imaginava. Aquilo fora uma boa ajuda e até ganharam um bom dinheirinho para amparar as finanças. Mas...
- Isso porque vendi a sorte, não foi?
- Foi, sim senhor.
- É assim mesmo. A humanidade sempre foi feita do mesmo barro. Mas não se preocupe que a gente dá um jeito.
- Que vai fazer o senhor agora? Respondeu de imediato:
- Vou subir a escada e trabalhar com seu Talamiro.
- Eu não queria isso. É muito duro prô senhor.
- Ora, meu príncipe, você ainda é muito moço para se preocupar com a sujeira do dinheiro. Pronto, vou subir a escada num dia que tiver mais coragem. Trabalho lá, economizo dinheiro e ainda penso enviar no fim do ano algum dinheiro para os meus índios comprarem qualquer coisa.
- E eu?
- Você? Você continua trabalhando para mim, como antes dos bilhetes. Pago sessenta mil cruzeiros. Não é muito mas sempre é um ordenadinho para você. Ora, meu rapaz, não há que desanimar. Nesses meses com as gratificações e o dinheiro do trabalho, quase que ganhei trezentos mil cruzeiros. Dá para esperar. O que você quer mais?
- Ia tudo indo tão bem. Aqueles sujos lá...
- Não fale assim dos outros. Certamente eles têm mais dificuldades e mais família do que eu. Foi bom. Eu já andava meio caceteado de todo dia ter que rodar pelas ruas.
- E lá em cima, no seu Talamiro, o senhor também não vai cansar?
- Acho que não. O duro mesmo é subir a escada.
- Sabe de uma coisa, seu Reimundo, o senhor é o único amigo mesmo que tenho. Que conversa de homem para homem comigo. Não acredito que o senhor suba lá um dia. Mas seja como for, trabalho prô senhor mesmo que não possa pagar ordenado.
Alisou a carapinha rente do pretinho.
- Não se incomode. Tudo se arranja. Só quero que a gente seja sempre assim: dois bons amigos por muito tempo.
Mas o diabo de Deus quando cisma com um, quando resolve que vai pescá-lo, não pára de cutucar os lugares mais doloridos. Só se satisfaz quando o coitado não tem mais capacidade de resistência. Então dona Morte, fisga o corpo com a ponta da foice e comenta para Ele:
- Esse já deu o que tinha de dar. Está mais morto que pedra e mais duro que madeira de lei.
Dito entrou de supetão. Dessa vez o rosto se encontrava regado de lágrimas. Sacudia-se com grandes soluços.
Aquilo mexeu forte com a apreensão de Frei Abóbora.
Atirou-se em seus braços soluçando. Sem dar tempo a qualquer pergunta foi lançando a tragédia.
- Seu Reimundo, eu vou s'imbora. Eu vou prá bem longe. Vó vai me levar.
Ficou sem saber o que dizer, alisando a cabeça da criança para que se acalmasse. Quando melhorou o desabafo, ele interpelou com calma.
- Que história é essa, meu príncipe?
Entre lágrimas e soluços foi contando aos pedacinhos.
- Vó resolveu vender a casinha prá seu Mane do Ensopado. Diz que está velha e resolveu ir morar seus últimos dias mais seu irmão lá no Maceió.
- Maceió é pertinho daqui. Pensei que você fosse para o Rio ou São Paulo.
- Sei que nunca mais vou voltar...
- Volta sim. Um dia você vem me visitar.
Falava aquilo sentindo falta de gosto nas palavras. Metade do seu coração, metade de sua ternura, viviam agora para aquela criança. Seu crioulinho anjo.
- Quando vocês pensam partir?
- Logo depois de amanhã bem cedo, no ônibus. Vó já tem até as passagem.
- Assim tão depressa?
- Ela estava resolvendo tudo escondido. Criança não tem querer.
Viu-se menino quando também não tinha querer e que tudo era proibido.
Começou a chorar de novo.
- Vim já para lhe dizer adeus.
Nem sabia o que fazer. Soltou uma das mãos que enlaçavam o menino e apanhou a lata de biscoito Aymoré. Destampou-a, assim mesmo com as unhas e enfiou os dedos nas notas. Espremeu um monte sem contar.
Dito se soltou um pedaço e olhou com o rosto luzidio, mais luzidio ainda por causa do pranto.
- E agora, seu Reimundo, que vai ser do senhor?
- Quem sabe se me aparece outro anjo como você. Vai ser muito difícil existir outro como o meu príncipe.
- Nem num fale mais isso. Novas lágrimas redondas pelo rosto.
- Coitadinho do senhor, seu Reimundo, tão sozinho, tão bom e ao mesmo tempo tão bobo, que nem sabe fazer nada. E eu não estou aqui para lhe ajudar mais.
- Você esquece, meu filho. Você é moço e essas coisas passam logo. Vai conhecer gente nova, novos amigos, novas praias, vai fazer uma viagem muito bonita. O tempo passa, você cresce logo. Logo vira homem...
Ia falando sem conter as palavras, tentando reforçar e acreditar em tudo que dizia.
- Agora tome isso para você. Quem viaja precisa sempre dessas coisas.
Amarrotou o monte de dinheiro e enfiou no bolso da calça do garoto.
Dito agradeceu, comeu umas lágrimas e olhou Reimundo nos olhos.
- O senhor gosta muito de mim?
- Como um amigo. Como a um filho, como a um anjo de bondade. Que posso dizer mais?
- Então por que o senhor está assim?
- Assim como?
- Eu fico sofrendo tanto, de olho doendo de tanto que chorei de noite e o senhor fica assim.
Sentiu uma dor no coração. Era a maior pontada de tristeza dos últimos tempos. Quando todos os sentimentos apareciam pela metade nele, só a dor tinha a capacidade de aparecer íntegra, completa.
Tornou a abraçar o menino contra o peito.
- Sabe por que, meu filho? É assim. Quando a gente nasce, Deus põe um vidro cheio de lágrimas dentro do coração. E conforme a dor a gente vai chorando aos poucos. E quando se "dói" demais, o vidro se acaba logo. Então a pessoa fica como eu, sem lágrimas para chorar. Fica que nem olho de lagartixa que nunca pode chorar... Você acredita que se eu ainda pudesse, não estaria chorando com você?
Apertou mais o negrinho, como se naquele abraço houvesse um desejo de nunca perdê-lo, de nunca o ver se afastando, na vida...
Sexto Capítulo - A Escada
Solidão, muro de Pedra. E o coração lamentava-se baixinho, apoiando-se contra ele:
- Não te avisei, Reimundo? Bem que avisei.
Até ele estava lutando para esquecer a importância daquele nome tão simples e tão significativo que escolhera Frei Abóbora.
- Avisei que não se apegasse ao menino. Que não tinha mais nada na vida de querer bem a ninguém como teimou em fazê-lo...
Era verdade no entanto. Colocava no príncipe-raio-de-sol-negro toda a afeição reunida de todos os seus menininhos buchudos da selva que tudo fizera para esquecer. Resultado: tomava-se de uma prostração violenta que o impedia de ir para a frente empurrando a cadeira de rodas da vida.
Faltava sua alegria, faltava seu sorriso, suas frases inocentes mas de uma profundidade incrível para uma criança. Estava sentindo a ausência do pequeno gosto de vida que Dito trouxera à sua insignificância. Fora apenas um raio de sol negro, passageiro. Bonito enquanto durou. Restava dele apenas a saudade grande e um retratinho de primeira comunhão afixado no tabique por quatro tachas humildes.
E para completar o desânimo chegaram as grandes chuvas que enlameavam e fediam a cidade. Arrastar-se nas muletas e ficar encostado do lado de dentro da porta, respondendo ao bom dia dos que passavam. Ficar espiando o movimento da vida. Passos pulando as poças d'água. Guarda-chuvas desviando-se do frevo da chuva. Homens de camiseta, com um saco de estopa emborcado na cabeça, suspendendo os braços musculosos e deixando à mostra os sovacos cabeludos, caminhavam em silêncio transportando os grandes sacos de farinha, cimento, feijão, arroz... Misturavam o suor com a chuva e a chuva descobria os cheiros mortos pelo chão, pelas paredes. Tudo se confundia num odor de maresia podre com fedor de mijo de gatos e de homens, com o tresandar das cebolas e alhos, aprisionados nos grandes armazéns de cereais. Era feia a chuva no Recife. Chuva bonita era aquela que enchia os grandes rios e devorava a praia. Não. Não esquecer. Esquecer...
Cochilar, às vezes ler um jornal onde os homens continuavam a jurar fidelidade às bandeiras, a se matar, se destruir. Ou então os crimes feios onde os homens se matavam e também se destruíam. Poderia escrever a Afonso e explicar que se sentia cada vez mais cansado e que como a barata da metamorfose, começava também a se encolher bem devagarzinho. Mas ele por certo saberia disso. Melhor do que ninguém. Sorriu à lembrança do amigo.
Então para não "doer" ficava lembrando das lembranças que não pesavam muito. E Françoise? Tão elegante. Tão indiferente. Passava possante" na Rua Barão de Itapetininga como se fosse "dono" da rua. Os outros ônibus tinham também nomes e pertenciam ao mesmo dono. Mas Françoise era diferente, parecia ter mais personalidade do que Antonella, Carmem, Dulcinéia, Silvana e tantos outros... Françoise tão bonito em francês e tão horrendo em português: Francisca. Simpatizava sem conhecer com o dono dos ônibus: devia ser um belo sonhador. Porque nomes assim só em barcos e canoas, navios também...
E Sylvia? Sorrindo sempre continuaria pela vida, exibindo as duas covinhas do rosto que fizeram o encanto da sua adolescência de Doidão. Estaria lá nos Estados Unidos. De tempos em tempos remeteria uma carta ou um cartão de Natal, onde havia sempre muita palavra de amor e recordação das horas felizes. Possivelmente as cartas seriam mandadas de volta. Como diziam mesmo em inglês? Unknown Adress - Endereço Desconhecido. Ficava melhor assim. Ela estava embrulhada nas lembranças dos grandes rios, do sol, das canoas, dos índios e sobretudo das praias.
Encolher, esquecer, enrodilhar-se e esperar. Esperar que pelo menos a chuva passasse e lhe deixasse por caridade uma semente de renovação, daquelas que Tom costumava plantar.
Deitar, cochilar, dormir. Esquecer, encolher, enrodilhar.
- Posso entrar nessa tristeza?
A porta entreabriu-se e o vulto de Turga desabrochou.
- Virge Maria que escuridão é essa!
Torceu o comutador e deu com Reimundo todo encolhido. Ele riu e tentou suspender-se na cama.
Ela ajeitou os travesseiros em volta da sua cabeça.
- Mas, meu santinho, você não pode continuar assim. Faz bem três dias que não sai da toca. Que é isso?
Sentou-se junto da cama e ficou dando alegria naquele submundo.
- Espie o que trouxe. Dois pacotinhos de Busi porque sei que você aprecia muito.
- Obrigado. Por favor bote em cima da mesinha.
- Vamos dar uma voltinha hoje meu "melèzinho"?
- Com essa chuva, Turga? Ninguém tem vontade de fazer nada. Estou esperando a volta do Irmão Sol. Porque de sol mesmo só existe você quando aparece.
- Lá vem ele com os ditados bonitos! Mas a chuva tá aperreando já. Dizem que chuva é obra de Deus, mas desse jeito só se ele estiver muito afobado. Atrapalha a vida de todo mundo. De noite eu tenho que sair para a pescaria com uma capa velha que esconde todos os encantos da gente... Pelo menos uma voltinha no corredor, meu santinho devia de dar de vez em quando.
- Tentei, mas é perigoso. Todo mundo entra de pé molhado e enlameia o mosaico, já sujo por natureza; as muletas escorregam: as pontas são de borracha.
Calou-se olhando o rosto vivo da moça.
- Foi bom que você viesse, Turga. Eu precisava tanto de um seu favor.
- Você, meu santinho, não pede nada. Manda, é o que é.
- Queria que você guardasse minha lata de biscoito no seu quarto.
- Mas tem o seu dinheiro...
- Por isso mesmo. Vivo sempre dormindo pesado. Pode vir alguém de fora e levar tudo. Mesmo porque dentro tem duas cartas. Se um dia me acontecer alguma coisa, você abra.
Ela ficou toda aflita. Com a confiança que o aleijado lhe depositava e porque não queria ouvir aquilo da sua boca.
- Deixe de dizer bobice, homem. Não vai acontecer é nada. Logo vem de novo o seu Irmão Sol e essas minhoca toda some de sua cabeça.
- Prá quem as cartas?
- Não pense nelas, agora.
Mal sabia que numa delas pedia para ser enterrado numa vala comum onde ninguém soubesse mais de sua existência e que na outra deixava todo o dinheiro que sobrasse para que Turga tivesse a sua viagem para o Sul, favorecida.
Ficou sem saber dizer nada. Mas ele quebrou o silêncio.
- E tenho uma lembrancinha para você.
Abriu a gavetinha da mesa e retirou o último isqueiro.
- Como não fumo há muito tempo, é melhor você levar ele. Turga rolou a peça na palma da mão.
- Mas, meu santinho, isso é de muita valia. É coisa cara de estimação. Gente como eu não pode nunca usar um trem tão valioso...
- E por acaso eu posso? Ninguém melhor do que você merece um isqueiro desses.
- É ouro?
- É. E não me diga que não o pode receber, senão eu fico mais triste ainda.
- Mesmo assim...
- Só uma coisa lhe peço. Tem um nome gravado. Se você o ler, leia em seu coração. Em silêncio...
Ela trouxe o isqueiro mais para a luz e descobriu o nome.
- Que lindo!...
Abaixou-se lentamente sobre a cama e beijou Reimundo nas faces, agradecendo. Levantou-se para sair e caminhou para a porta resmungando.
- A gente que vem aqui trazer um pouco de alegria, sai mais triste do que pensa.
Parou na porta e sapecou uma vingança.
- E o diabo dessa chuva nojenta que não pára mais!...
Quando chegasse lá embaixo ia ser gozado. Na repartição do corpo, as minhocas ficariam decepcionadas.
- Vejam, vocês da minha turma de trabalho, o que ficou para a gente? Umas pernas secas e um balangandã amarelo, ressequido e sem gosto.
Uma minhoca mais velha, colocando os óculos, examinaria o sexo refutando sabiamente.
- Se isso há muito tempo não tinha gosto em vida, por que você vai querer agora que ele se refresque? Só pelos seus belos olhos?
Sorriu da besteira porque minhoca não possui olhos. Mas o coração se danou mesmo.
- Reimundo, você não passa de um grande idiota, sabe? Por que fazer doer a sua própria dor? Já não basta o que passamos juntos?
- Está por pouco, meu querido querido.
Enjoou da escuridão e com a mão cansada acendeu a luz. A chuva se fora, mas o cansaço aumentava terrivelmente. A ponto das mãos pesarem como quilos de balança. Estava sentindo um calor abafado que sufocava o seu respirar. Ao mesmo tempo parecia que o seu peito engordara estufando-se como um balão de borracha. Havia algo dentro dele que parecia não lhe pertencer e querer se evaporar. Conseguiu se libertar um pouco da angústia e beber um caneco d'água.
Ficou todo arrepiado.
- Quem foi que colocou aquilo ali? Não vira ninguém entrar com aquilo.
Até os cabelos da cabeça ficaram eriçados.
Haviam posto um crucifixo bem em sua frente. E o Cristo brilhava como se balançasse o corpo ou respirasse no meio da luz.
Fechou os olhos, esfregou as pálpebras com as mãos e criando coragem entreabriu os olhos. Não estava mais ali. Felizmente não voltara ao hospital. Era o retrato de Dito tão lindo em sua primeira comunhão. Estranho, também não era o retrato de Dito e sim um grande pano negro que crescia tomando todo o fundo da parede...
... - Que beleza de rapaz! Que corpo bem proporcionado!...
Examinaram o seu corpo em todos os sentidos, fazendo com que girasse para apreciarem suas formas. Deixaram que permanecesse no tablado e foram confabular, o professor com o assistente e os alunos também.
Ficou indiferente ao que diziam sobre sua pessoa. Conhecia-se suficientemente para saber que seus músculos eram bem feitos e suas proporções perfeitas. O bronzeado do corpo criado ao sol, realçava-lhe mais os seus dotes físicos.
O bebei subiu ao estrado e pregou em cada lado duas espécies de presilhas. Perto dos pés, um grande triângulo de madeira. Com um certo sadismo lhe sorriu.
- Vão fazer do senhor um Cristo maravilhoso.
O professor voltou a ele para avisá-lo: são três horas na parte da manhã. Em cada hora haverá um intervalo de quinze minutos para descanso. Se por acaso cansar-se com a pose e faltar-lhe a circulação nos braços, pode pedir para descansar fora de hora. Porque no começo todos sofrem com isso.
Convidou a tomar posição. Subiu no triângulo e entreabriu os braços, procurando prendê-los nas arreatas de couro.
Ouviu um oh! de admiração, mas ainda não estava pronto.
- Por favor, vire a cabeça para a esquerda e olhe para cima. Assim, meu jovem.
Estranho que se fascinassem com sua figura de Cristo. Se ao menos pudessem imaginar o que lhe ia n'alma naquele momento. Logo Cristo seria a sua figura de debut naquela Escola. As horas então pareciam não correr, crucificadas aos minutos e aos segundos. Vinha a vontade de não fixar o relógio, mas na posição que estava, condenava-se a nunca desfitá-lo. Era necessário que o pensamento agisse, pensasse. Doíam-lhe, com o tempo, os pulsos contra a arreata. Os pés suspensos inchavam sobre o pedaço duro de madeira: As costas grudavam-se no pano de fundo. E o relógio indiferente. Só de vivo as pessoas em círculo moldando o gesso, de vez em quando se aproximando com um compasso, para medir-lhe, tomar-lhe o tamanho exato do que precisassem no trabalho. Jesus Cristo, Rei dos Judeus. O demônio ficava atiçando sua maldade e seu desespero.
- Estás aí de Jesus Cristinho? Com esse rosto limpo e esse corpo luminoso de beleza, e o que fez você ainda ontem, meu caro Mestre?
- Ontem estive na casa do professor tarado.
- Reparou, Cristo, que nem notaram as picadas, os pontinhos negros que você tem nas pernas? São uns distraídos. Nem sequer descobriram que debaixo dessa beleza toda, a podridão se exala de cada pedaço de sua carne.
- Ontem... Mas não foi só ontem. Faz uma semana que me sirvo para isso...
Reviu o apartamento, com as cortinas pesadas derreadas, as grandes poltronas. Nas paredes quadros excitantes pendurados, deviam ser quadros feitos especialmente para ele. Homens nus se abraçando, se possuindo. Mulheres se bolinando, enfiando as mãos nas coxas umas das outras. O sofá grande, onde o professor de barba crescida e pontuda, de longos dedos e bem tratadas unhas o convidava.
- Sente-se aqui. Não tenha medo. Afinal um homem tão forte e tão lindo como você, não deve temer nada.
A fala pausada e melíflua tinha o jeito de uma língua saburrosa que o devorava. Uma versão mais imunda e mais moderna do antigo irmão Justino.
Aproximava o rosto pálido e viciado do seu e sorria. Os dedos finos enterraram-se nos seus cabelos. Sentiu um arrepio e vontade de fugir.
- Por que isso? Afinal por que aceitou o convite? Respondeu com certa amargura:
- Estava na merda, sem dinheiro e com fome. Não tinha onde morar.
- Pois então? Eu pagarei você. Pagarei você. Não quero fazer muita coisa. Sei que me disseram que você tem um corpo maravilhoso. Nem precisavam me ter dito. Logo se vê.
Suspendeu uma das pernas no sofá, fazendo com que o robe de chambre verde-claro se entreabrisse e mostrasse o seu corpo magro e leitoso.
- Se não quer, está ainda em tempo. Mas será uma pena. Jurou consigo que não recuaria. Precisava doidamente de dinheiro.
Nada de toda aquela podridão lhe emporcaria a alma. Tentaria desligar o corpo do espírito para que nada atingisse a sua integridade moral. A verdade é que era moço, estava com fome e ninguém aparecia de um modo decente para ajudá-lo.
- Que quer que eu faça? Um sorriso na face viciada.
- Assim é que se fala: assim está melhor.
Apontou o centro da sala e acendeu todas as luzes. Parecia ter-se transportado para um estúdio de cinema.
- Agora meu filho, dispa-se.
Retirou a camisa. Sentou-se para descalçar-se no grosso tapete. Tornou a levantar-se e retirou devagar a calça e a cueca. Arremessou tudo sobre uma poltrona.
O professor caíra de joelhos e os olhos luziam de cupidez.
- Que coisa!
Começou a cheirá-lo desde as pontas dos pés. Ao chegar ao joelho levantou a vista. O rosto do homem tinha adquirido toda a luz da sala e reverberava de lubricidade.
Caiu sentado sobre os joelhos e murmurou pateticamente:
- Você está endurecido: uma bela estátua petrificada. Você não sente. Quero que você se dissolva em minha boca.
Encaminhou-se para dentro de um quarto e retornou. Dessa vez completamente despido e exibindo uma seringa de injeção.
- Só uma picada e você será transportado para um mundo de frêmito e de gozo.
Deixou-se picar. O professor retirou a agulha e aplicou em suas pernas um resto do tóxico que sobrara.
- Seja camarada, venha comigo.
Deixou que o puxasse pela mão e o levasse até o quarto. Deitaram-se juntos numa cama de casal, já desarrumada e preparada adrede.
Um ligeiro aquecimento e torpor fazia fervilhar os seus músculos, uma vontade de permanecer deitado, enquanto um mundo de formigamento lhe atacava o ânimo.
- É a primeira picada que você toma? A voz vinha aveludada em círculos.
- Logo depois da primeira vez, você vai adorar tudo isso.
Os músculos amoleceram sem resistência; somente um calor que acalentava e que subia à cabeça. Sentia que gemia estranhamente. O professor lhe falava:
- Meu lindo Apoio. Assim. Deixe-me sorvê-lo todo.
Sentia o corpo numa voragem macia como se deslizasse numa grande corredeira: tudo sem esforço ou resistência.
A fala se calara e somente a boca que se transformara numa ventosa de seda caminhando sobre o seu corpo. De repente a voz parecia ressuscitar mais alucinada para dizer:
- Isso, meu belo jovem, deixe que toda essa beleza se derreta sobre mim.
O homem foi respirando mais violentamente, até que gemendo forte se calou. Uma sonolência impressionante pesou-lhe sobre os olhos.
Quando acordou, a manhã ia alta. Doía-lhe a cabeça e tudo parecia girar, à procura de configuração. Quando conseguiu analisar as coisas deu com o rosto barbado do professor debruçado sobre o seu despertar.
- Lindo como o despertar do primeiro homem ao ser criado.
- Minha cabeça dói. Meu estômago está enjoado.
- Sempre é assim na primeira vez. Tome isso.
Deu-lhe um comprimido efervescente num copo d'água. Feche os olhos por uns minutos e tudo passará.
Depois, já vestido, recebeu o dinheiro das mãos do professor sentindo que suas unhas afiadas se lhe cravavam no pulso.
- Você vem hoje de novo?
Não sabia o que dizer; afinal era bastante dinheiro por uma noite que nem vira passar direito.
- Venha que pagarei ainda mais. Às nove horas. Às nove...
Não ia, mas acabou indo. Agora posando de Cristo o demônio lhe recordava tudo aquilo com um sorrisinho de vitória.
- Uma semana, não meu querido Mestre? Uma semana e ninguém descobriu o significado dessas pontinhas negras em suas pernas, não?
Revolveu-se na cruz da posse. Como tudo aquilo doía e demorava.
- Meu Deus! Será que terei resistência para passar um mês assim crucificado? Ainda não se passou uma hora e todo o meu corpo é uma dor de fogo.
- Não seria mais fácil, meu querido Cristo, voltar lá? A cama é macia, a boca do homem, uma chama de fogo, a morfina alivia qualquer angústia boba e o dinheiro como que surge mais fácil.
- Não. Não irei mais lá. Não repetirei nem uma dose sequer, na vida, de morfina. Como também nunca mais aceitarei ser Cristo de novo. Nunca mais essa tortura.
- Você é um bobo, meu adorado Mestre.
Deixou a morfina e o professor barbado. Virou Apoio, Narciso e um bando de personagens mitológicos. Mas a pose de Cristo continuou a persegui-lo. Quando decidia não aceitar acontecia acabar o dinheiro e retornava à cruz.
Estava de novo pregado. Fazia uma semana. Não pensava em coisa muito grave nem condenatória: pensava simplesmente na festa da véspera e no cheiro do corpo de Paula, nos cabelos de Paula. Nos seios duros de Paula se arremessando contra ele.
- Eu te procuro desde que a primeira estrela foi criada. Que estrela? Antares, Arturus, Riggel, Betelgeuse?...
- Doidinha. Doidinha maravilhosa.
No intervalo de uma das poses o amigo entrou com esparrame na sala e se dirigiu a ele.
- Que foi?
- Estou fora de forma e essa pose mata.
- Sabe quem me telefonou?
Não precisava perguntar porque o brilho dos seus olhos contava tudo.
- E daí?
- Quis saber de você.
- Só?
- Já é muito de uma pequena como Paula.
No dia seguinte continuava na sua via-crúcis. Esperava que o relógio caminhasse, mas ele parecia desejar o contrário.
Seus olhos foram atraídos para a porta da aula de escultura que se abria e vozes que interrompiam o silêncio do ambiente.
O amigo e o professor ladeavam Paula. Paula foi apresentada aos alunos. Fazia uma visita de curiosidade à Escola: tinha entrado em todas as aulas que funcionavam.
Seus olhos se cruzaram. Ela deu um ligeiro sorriso e comentou com o professor de escultura:
- Belo espécimem!
Parou defronte do modelo e o analisou devagar. Em seguida caminhou de cavalete em cavalete examinando sem pressa cada trabalho.
Demorou-se um pouco e resolveu sair. Agradeceu a todos e logo depois a porta batia fechando-se, anunciando sua partida.
Ficou sem saber o que pensar. Ela estava mais linda num tailleur cinza e os cabelos continuavam soltos, emoldurando o rosto moreno-claro. Parecia uma visão: uma fantástica visão que lhe desequilibrava a calma interior.
Na saída, demorou-se um pouco no Café Vermelhinho tomando um refresco e descansando o corpo tão sacrificado pela pose.
O amigo apareceu.
- Que horas você sai hoje da tarde?
- Quando terminar a última aula de desenho, no modelo vivo.
- Por quê?
- Nada. É que de repente me transformei na aia de Romeu e Julieta.
Sorriram.
- Você é um bobo! Onde vai almoçar?
- Por aí.
- Eu não. Casa de Estudante mesmo, no Largo da Carioca. Comprei um cartão e lá a gente nem precisa dar gorjeta.
Viajavam sem pressa pela Rua Jardim Botânico. Paula dirigia e ele recostava-se derreado contra as almofadas.
- Por que tão calado?
- Sempre que saio da Escola, fico assim. O cansaço é tão grande que nem dá vontade de falar. Muitas vezes vou me sentar nas pedras da beira-mar e fico com os pés mergulhados na água salgada para aliviar as dores e o cansaço.
Paula sorriu.
- Pensei que você não fosse aceitar o meu convite.
- Por quê? Só me admirei de me esperar diante da porta da Escola. Se fosse uma daquelas marafonas gordas da Lapa com seu carro eu teria aceito também. Sendo você, foi uma maravilha.
- Por que esse desânimo todo, Baby?
- Imagine o calor que fez hoje naquelas aulas abafadas. Eu fico sempre na parte mais alta, mais perto do teto, mais perto das luzes. Três horas numa cruz. Uma hora para almoçar. De uma às três posando como um efebo qualquer para um alemão que quer concorrer ao salão. Duas horas de modelo vivo. Nem tive tempo de me trocar. Era vestir a roupa em cima da tanga e passar de uma pose a outra. Hoje estou morto, Paula: nada há de pior do que ficar paralisado diante de um relógio. E na última aula, quando você sente que os músculos relaxam e o corpo cede, sempre existe uma voz reclamando que a posição não é perfeita. A gente não pode se desequilibrar um milímetro porque a aula é circular e todos desenham ao mesmo tempo. Nem sei como estou falando tanto.
- Posso fazer uma coisa?
E antes da resposta ficou com uma das mãos livres e enfiou-a na nuca do rapaz.
- Era isso?
- É pouco?
- Ontem você não pediu licença quando se atirou em meus braços.
- Foi ontem?
- Sei lá. Ontem, anteontem, há um mês, inda agora. Qualquer coisa dentro do tempo.
- Que beleza!
Ele levantou a vista e ficou vendo a rua, sem descobrir o motivo da exclamação.
- O que?
- Você, Baby; você quase nu pendurado naquela cruz.
- Ah!
- Quase me deu vontade de xingar aqueles brutos que o crucificavam. Nem pode imaginar a minha angústia e mal-estar.
- Não parecia.
- Fiquei o dia me torturando com a sua imagem de braços abertos me perseguindo. Fiquei com vontade de ir até o estrado e beijar você todo e quando chegasse aos seus ouvidos, implorar baixinho: não quero ver você assim; venha comigo.
- Você está louca.
- Estou mesmo.
- Não quer ser boazinha e voltar para a cidade? Na Praça da República tem um hotelzinho ingênuo onde, num banheiro imundo, poderia tomar uma ducha, tirar o sujo, o suor do corpo. Retirar essa maldita tanga e esquecer. Esquecer que tenho pelo menos doze horas sem a perseguição dela.
Paula calou-se. Imprimiu maior velocidade ao carro. Em vez de retornar à cidade, enveredou pela Rua Marquês de São Vicente. E no fim desta subiu a ladeira da Rua Santa Marina. Parou subitamente perto de um portão, onde havia uma larga escadaria. Escondida entre árvores aparecia o vulto disfarçado de uma casa.
- Venha.
Abriu o portão e esperou que ele descesse do carro.
- Sua?
- Quase. De minha mãe. A Lady Senhora. Parou indeciso.
- Não tenha medo. Ela mora mais em São Paulo do que no Rio. Vamos. Vamos, meu lindo Cristo. Essa não será a escadaria do Calvário.
Parou num terraço de vidro e espiou a paisagem. Só havia verde em volta. Ouvia-se embaixo o rumor de uma cascata.
Entraram num salão tipo colonial, mas muito repousante.
- Sente-se ali. Naquela poltrona que é cômoda. Espere que já volto.
Entrou e trancou a porta do quarto. Demorou-se uns dez minutos e os olhos dele quase se fechavam de sono. Abriu a porta e voltou.
- Faz de conta que eu sou uma pintora e que você vai posar para mim.
Puxou pelo braço, fazendo-o erguer-se. Tocou levemente os seus lábios contra os dele. Quase implorou:
- Agora venha.
Entraram num quarto grande e perfumado. Tudo de Paula era perfumado. Ela continuou puxando-o para outra dependência. Era o banheiro.
Enxergou a água perfumada se azulando na banheira.
- Não era isso que você queria, Baby? Pronto. Pode entrar. Sorriu para ela, admirado de tanta decisão.
- Você pensa em tudo, não?
- Não fale: está perdendo tempo. Pode despir-se. Que foi? Deu crise de pudor agora?! Baby, já vi muitos homens nus.
Como ele mostrasse um resquício de recato, ela soltou uma risada.
- Viro de costas e ainda fecho os olhos, está bem?
Realizou o prometido. Só desvirou-se quando ouviu o corpo se afundando na água.
- Quente demais?
- Uma delícia.
Deixava o corpo bem imerso para que Paula não o visse inteiramente. Ele mesmo estava admirado daquela sua crise de moral.
- Só falta uma coisa agora, Baby.
Levantou-se para apanhar um vidro de sais de banho. Destampou-o e derramou fervilhando na água. Com as mãos remexeu a água sem tocar no corpo do rapaz. Sacudiu os dedos e sentou-se com a maior naturalidade sobre o vaso sanitário.
Observou com carinho o rosto de olhos fechados de Baby. Deixou que ele descansasse em silêncio. Somente quando ele se animou á falar, que respondeu.
- Paula.
- Hum.
- Você está aí?
- Sim.
- Só com você consigo falar de olhos fechados.
- Isso lhe faz bem?
- Enormemente. É sinal de que consigo confiar em alguém na vida depois de tanto tempo. É uma maneira de poder sonhar de novo que você está me ensinando.
Saiu da sua posição e ajoelhou-se perto do rosto do rapaz.
- Oh! Baby. Que coisas bonitas você me diz. Sentindo o calor do seu rosto, abriu os olhos.
- Paula Toujours. Toujours. Para onde vamos nós desse jeito?
- Baby.
- Hum.
- Não vamos perguntar à vida aquilo que a vida está nos dando sem perguntar. Vamos simplesmente usar bem, para que a vida não nos negue sempre a chance.
Encostou o rosto mais no dele. Na doce umidade de sua pele.
- Está mais descansado?
- Estou me sentindo limpo, puro, íntegro, confiante. Em que legião de anjos estamos agora? Querubins, Serafins, Potestades...
- Em todas.
Quis passar os braços em volta do seu pescoço.
- Vou molhá-la.
- Não tem importância.
Foi ela que enlaçou o seu pescoço e engoliu seus lábios.
- Você poderia também vir.
- Não. Não é assim que eu imaginei.
Sorriu. Afastou-se e apanhando a tanguinha no chão ergueu-se.
- Que vai fazer agora?
Foi até a pia e lavou a tanga na torneira escorrente.
- Lavar isso.
- Não faça.
- Seca logo no vento do terraço. Quando você for, já estará seca.
- Mas eu não vou.
- Então não vá.
Ia saindo carregando a tanga.
- Que usarei quando precisar me levantar? Ela riu, da porta.
- Pense numa cor.
- Amarelo.
- Então espere.
Ouviu que no quarto um armário se abria. Ela voltou sutilmente.
- Tome.
Arremessou sobre ele uma toalha felpuda amarela.
- Que horas, Paula?
- Não sei. Qualquer uma delas.
Estavam deitados no sofá do terraço. As luzes da sala permitia-lhe uma tênue claridade. O vento balançava a tanguinha pendurada no vidro e trazia um agradável resfriamento ao ambiente.
Ele se encontrava deitado com Paula repousando sua cabeça entre o bíceps direito e o peito. A mão dela deslizava no resto do peito que sobrava. Os cabelos lisos e sedosos encostavam-se à sua boca e podia respirar sem sacrifício sobre sua cabeça.
- Baby!
- Hum.
- Você sente o que eu sinto?
- Sinto. Estamos flutuando, não?
- Céu deve ser isso ou parte disso.
- Não acredito seja tanto.
- Vou contar um segredo, posso?
- Diga.
- Estou louca por você, Baby.
- Você é linda, Pupinha!
- Não tanto quanto você. Por que Deus fez o macho sempre mais bonito, Baby?
- Porque ele também não deve ser normal. Senão não criaria os anormais.
Ela sorriu.
- Você afirma que Ele é?...
- Não tenho dúvidas: pois se o homem foi feito à sua imagem. Os "coisos" devem ter sido feitos daquela parte de Deus também, a sua imagem. Quando Deus fez o primeiro homem, ficou apaixonado pela obra. Depois, para que não desse na vista, resolveu criar a mulher. Como uma espécie de obrigação, sei lá. Por isso os machos sempre são mais bonitos, em qualquer espécie de criação. Que Deus gostava das coisas no gênero, ora, oral
- Baby, que heresia!...
- Leia a Bíblia que você vê uma porção de gente assim que ele protegia. O primeiro "coiso" foi Abel. Enquanto Caim dava um duro filho da puta, Abel corria como uma libélula pelos campos ofertando flores nas montanhas, ao pôr do sol, ao seu querido Deus. Além de "coiso", Abel foi o primeiro trailler da castração espiritual que surgiria com os religiosos. Também como é que o pobre ia se defender? Possivelmente Caim papava as cabras dos rebanhos, nos campos. Deve ter cantado o Abel loiro e foi o ciúme contra Deus que o fez matar Abel.
- Que maluquinho que você é. Mas nunca tinha pensado nisso.
- Ora, Pô. Você nunca leu o episódio de Tobias e o Anjo? O Anjo era tão lindo que Tobias sapecou a cantada nele. Chegaram a brigar porque Tobias agarrou o bruto à força... Freud está cheio de explicações sobre isso. A sofisticação e a beleza dos homens mais viris como Casanova que disfarçava as suas glândulas femininas, sendo mais homem. As religiões estão repletas de deuses complicados e arredondados. A própria Trindade é uma mescla estranha: Padre, Filho e Espírito Santo. Não há uma mulher no meio de tudo isso. Nas aulas de escultura, tanto as mulheres como os homens normais me fazem, arredondando os peitos e ampliando minha bunda. Já o "coiso", aquele da esquerda, baixinho, amplia meus músculos e desenvolve o meu pinto... e a imagem de Deus? Com quem fica a razão?
- Você defende os homossexuais?
- Nem uma coisa nem outra. Não me atingem, não chegaram a me conspurcar, não diminuíram minha masculinidade, não os criei, nem sou Deus. E se Ele fez os mosquitos e as minhocas, as serpentes venenosas e frutos que dão alegria... se fez os "coisos" ou foi por curiosidade ou por necessidade. O problema é dele. Sabe de uma coisa Paula?
- Diga.
- Está me dando uma fominha...
- De mim?
- Sua desavergonhadinha, meu amor. Já nos devoramos bastante, não?
- Tem tudo lá na geladeira. Preparei sanduíches de paté, de queijinho amassado em pão de forma e deixei champanha na geladeira.
- Você sabia que eu vinha?
- Você não sendo "coiso", tinha que vir.
Sentou-se no sofá e ficou fitando apaixonada o rosto do rapaz. Não resistiu e beijou-lhe sofregamente a boca.
- Quem é você, Paula?
- Um assunto chato e banal até encontrar você. Fui casada com um homem mais velho. Deu tudo errado. Principalmente porque nunca poderia ter filhos. Separamo-nos e fiquei vivendo como antes: com a Lady Senhora realizando todos os meus sonhos. Tive alguns casos, porque como você vê não sou nenhum material de se deixar às baratas. Sou?
- Que pergunta!
- Meu sonho era um dia encontrar alguém. Alguém que fosse igualzinho a você. Pronto.
- E a Lady Senhora. Ela não é assim, meio chatona?
- Oh! Baby, ela é minha mãe. Dentro de tudo que pode ser humano ela é uma maravilha de compreensão. Mas é um temperamento muito diferente do meu. Ou ela gostará de você ou o detestará.
- Que acha você?
- Provavelmente o segundo caso.
- Então vamos ter uma maré contra, danada.
- Não. Porque ela nunca o maltratará em se aproximando de você. Ela será grata em sua antipatia a você, se souber que me faz feliz... Você querido vai me fazer muito feliz não vai?
- E você?
- Não descobriu, meu lindo idiota, que você é a minha vida? Não sentiu que acertamos desde o primeiro momento? Que se você não se sentir feliz, estarei sofrendo mais ainda do que se tudo lhe faltar? Bobo. Vamos comer.
- Pupinha, se eu pedir uma coisa você faz?
- Só não me peça fazer café, porque detesto.
- Não. Eu queria continuar a flutuar, mesmo saindo daqui. Tem mesmo champanha na geladeira?
- Geladinho, geladinho.
- Estrangeiro?
- Para você eu ia dar bebida nacional, meu lindo?
- Vamos fazer como num filme que eu vi de Elisabeth Taylor?
- Vamos. Como é?
- Ela servia champanha misturado com suco de laranja. Deve ser ótimo. Eu fiquei com água na boca no cinema.
Ela deu uma risada gostosíssima.
- Então vamos fazer. Venha.
Estendeu-lhe o braço. Ele continuava deitado. Beijou-lhe as mãos e foi puxando Paula para si, subindo os lábios pelos braços. Ela esqueceu de tudo e deixou-se tombar sobre o seu corpo. Os lábios avançaram-lhe pela boca numa onda de fogo.
- Baby, Baby...
- Paula, que mulher você é! Linda, Linda. Gostosa. Tão francesa em tudo que você faz. Desde as roupas aos perfumes, nos objetos, nos cenários que anda.
Ela desligou-se um pouco, mas deixava cair os cabelos sobre sua face.
- Mas querido, tinha que ser assim. De vez em quando eu também volto para a minha civilização que é Paris. Eu adoro Paris, Baby.
Puxou mais e suas mãos apoiaram-se nas nádegas e foram subindo mornas de excitação pelas costas de Paula. Depois avançaram entre os dois corpos e ficaram amassando os seios duros com volúpia.
- Baby, os sanduíches...
- Depois...
- O champanha?...
- Daqui a pouco...
Quis falar mas estava com a boca prisioneira e foi transformando a voz em murmúrios incompreensíveis e esses, por sua vez, em gemidos de prazer.
Sétimo Capítulo - A Grande Escada
Olhou o ambiente sem pressa alguma. As cortinas que filtravam a luz da manhã. O vento que batia nelas bem de leve, ondulando-as. A noite satisfeita, a cama macia e Paula adormecida ainda, com os cabelos caindo um pouco sobre o lado do rosto, e as costas brancas e harmoniosas quase viradas para ele.
Começou a soprar docemente suas espáduas e depois passou a unha do indicador com cuidado. Ela gemeu e encolheu-se, arrepiando a parte tocada.
Colou a língua em seus ouvidos.
- Amor, já é tarde. Preciso ir para a Escola.
Ela abriu os olhos estremunhada de sono, sorriu e passou-lhe a mão na testa.
- Que horas são, Baby? Uma ou duas horas?
- Perdoe, querida. São seis e quinze. Sei que é madrugada paia você, mas para mim já é tarde.
Ela sentou-se na cama, espreguiçou-se como um bichinho e prendeu logo empós os joelhos com os braços.
- Deus do céu. Tanto tempo para arranjar um homem e vou logo descobrir um que não sabe dormir.
- Já que você não sabe fazer café, eu sei.
Ela foi recaindo sobre o seu peito e fez com que a enlaçasse, pousando as mãos sobre os seus seios. Baby ficou friccionando-os com carinho.
- Baby...
- Hum.
- Hoje é outro dia?
- No ciclo eterno da monotonia humana continua sendo outro dia. Vai-se a noite vem o dia. Vai-se o dia, vem a noite...
- Esse é que é o meu medo.
- Você não sabe o que é isso, Paule, Paule?
- Eu continuo sentindo o mesmo por você. Até um pouco mais que ontem. E você?
- Passe a mão na pilha da minha ternura e sinta quanto elas se multiplicaram. Mas preciso ir, Pô.
Choramingou de mimo.
- Não vá não. Puxai...
- Tenho que ir, meu amor.
Paula colocou um negligée claro e foi até o banheiro. Na volta seu rosto tinha adquirido um esplêndido frescor.
- Nem dormir você pode. Que vida! Deu-lhe um tapa nas nádegas.
- Mal acostumadazinha na vida!
- Você sabe fazer café? Eu adoro um cafezinho mas tenho horror em fazê-lo.
- Sei tudo, Pô. Fazer café. Pregar botão em camisa, dar pontos nas meias. Sei também...
- Agarrou Paula entre os braços, beijando-lhe os olhos.
- Se sabe...
- Querido, como é que vamos fazer?
- Fazer como?
- Quando vamos nos ver de novo?
- Você decide. Eu estou sempre pronto.
- Hoje não posso. Tenho um jogo beneficente.
- Fresca!...
- São coisas que a gente não pode evitar. Mas amanhã...
- Feito.
Ele tentou abandoná-la mas ela continuava segurando suas mãos para que não a deixasse.
- Querido.
- E agora?
- Como vamos fazer?
- Decida. Não sei o que é, mas decida.
- Eu não vou levar você. Você não vai querer que eu vá, não é?
- Claro, Pupinha.
- Pra me vestir vou gastar mais de uma hora.
- Compreendo.
- Aperte-me com força. Agora responda uma coisa ao meu ouvido. Ele obedeceu e colocou a boca ao alcance do desejado.
- Você me ama?
- Loucamente.
- Você é meu?
- Do pinto ao coração.
- Oh! Baby. Estou falando sério.
- Pois então vá lá. Eu adoro você, vou sentir sua falta, você vai fazer os meus momentos de paralisia correrem docemente...
- Então nós dois somos completamente de nós dois.
- De lá pra cá e de cá pra lá.
- Então você me faz um favor.
- Também não sei que é, mas nada nego a você.
- Não quero que você vá de bonde.
- E de ônibus?
- Pior ainda. Viajar em lugares cheios de gente que não se conhece, sem ser apresentado. É muito promíscuo.
- Então vou a pé.
- Não. Pegue um táxi.
- Duvido.
- Não quero que se canse muito. Afinal nós somos de nós dois ou não?
- Está bem.
- Querido, quando me fazem todas as vontades, eu sou um amor. Agora vá fazer o café.
Enquanto ele se dirigia para a copa, apanhou dinheiro e colocou num dos seus bolsos.
Depois ela tomou apenas um cafezinho, espiando delicada o prazer com que ele comia os sanduíches sobrados da véspera.
- De que está rindo?
Ela colocou a mão no queixo enlevada.
- Nunca tomei café com um homem nu. Nunca vi um homem nu tomando banho como vi você ontem.
- Paula, não minta.
- Pelo menos lindo como você, nunca. Olhou o relógio da copa.
- Deus do céu. Oito horas. Até chegar lá, vou correr pra burro.
- O taxi vai depressa.
- Gozado, você falar taxi quando todo mundo fala táxi.
- Querido, minha alma é muito recherché. Minha alma é francesa até ao despertar. Vamos.
- Que nojo vestir essa camisa suada de ontem. Cadê a tanga? Entregou-lha. Vestiu as calças de carreira e enfiou os sapatos.
- E as meias?
- No verão não as uso; no inverno também, porque as de lã são caras.
Ela sorriu penalizada.
- Como é que um homem como você chega a ficar assim nesse estado de inanição das coisas?...
Ele beijou-a suavemente.
- Paule, na realidade eu sou um pronto. E acabo de chegar do mato.
Vestiu o blusão e sentiu o volume do dinheiro.
- É pra ir, ou comprar um? Ela sussurrou maciamente.
- Casa de Estudante, não. Coisinha melhor. Sim? Como poderia negar qualquer coisa àquela mulher?
Pegou Paula nos braços e apenas deu um ligeiro beijo na boca. Um pequeno toque de carinho. Desceu as escadas como um furacão de mocidade. Nem abriu o portão saltou o muro. Passou perto do carro de Paula e deu um beijo no pára-lama. No vidro umedecido de orvalho escreveu Toujours. Olhou para cima para dar o último adeus e correr pela ladeira da rua.
Paula estava dizendo qualquer coisa do terraço. Abria os braços e gritava:
- Cristo, não, Baby. Cristo, não!...
O pano preto foi encolhendo e voltou a ser o rosto de Dito no seu retrato de primeira comunhão.
Reimundo sentiu o corpo cansar-se. O coração estava pesando demais no peito e a respiração o oprimia, fazendo com que sentisse vontade de rasgar o peito para poder respirar.
Por que lembrar-se de Paula, assim? Tão linda e tão viva. Quis beber água na quartinha, mas as mãos não encontraram força. Por que Paula tão viva? Tão linda? Virou-se com esforço na cama deitando o corpo do lado direito para aliviar o abafamento que sentia. E Paula? Por que? Veio um momento de maior reflexão e lembrou-se que diziam: no momento antes da morte a vida desfila ante os olhos em um minuto. Se ao menos Dona Marivalda aparecesse ali para lhe dar um pouco d'água. Se Turga surgisse agora como um milagre...
O quarto parecia estreitar-se todo e tapar cada buraco onde o ar penetrava. De repente ficou enregelado. Começou a tresandar um cheiro conhecido, quase transcendental. Respirou mais forte e sem medo algum. O cheiro de goiaba crescia assustadoramente. Só ele conseguia penetrar no seu olfato e permitir que a respiração começasse a tomar seu ritmo normal. O quarto foi-se iluminando como se o dia sem chuva o invadisse. Viu-se sentado em sua cadeirinha de rodas num quintal imenso e bem tratado. Uma voz conhecida e terna comentava:
- Assim deveria ser o quintal de todas as infâncias! Levou os olhos para onde vinha a voz.
Pelo tronco bem tratado e envernizado da goiabeira, enxergou Glória sentada num de seus galhos. Era a Glória linda, sem defeitos no rosto, sem o estigma da tuberculose. Estava corada como uma manhã de sol e sorria nós seus dentes perfeitos. Seus cabelos ondulados brilhavam com o tom dos velhos ouros. Ela deu um salto e se aproximou dele. Vestia um vestido leve e branco e encontrava-se descalça.
Ajoelhou-se junto à cadeira e tocou-lhe o rosto cheia de ternura.
- Que foi que fizeram com o meu irmãozinho tão lindo?...
- Nada, Godóia. Foi simplesmente a vida.
- Não quero mais vê-lo assim. Não quero que fique enrodilhado sem vontade de nada fazer. Você precisa subir a escada, Gum. A escada, entendeu, meu irmãozinho?
- Tão difícil, Godóia. Como fazer?
- Difícil é apenas viver. Você vai subir a escada. Apanhe suas muletas e coragem!...
- Onde encontrarei forças para isso. É um pouco tarde.
- Assim, meu lindo irmãozinho.
Suspendeu-se nas pontas dos pés e apanhou um fruto maduro.
- Esse é o mais doce, como você fazia antigamente comigo. Coma-o e terá o princípio do encorajamento. É tudo que posso fazer.
Mordeu a goiaba doce e ficou absorvendo lentamente o seu cheiro formidável.
- Agora, adeus. Não se esqueça: a escada.
Beijou-o na face e saiu pelo quintal bem cuidado da infância. Sumiu entre as árvores vagarosamente.
O quarto voltou a ser o quarto, a respiração melhorara mais. Todavia o cheiro de goiaba permanecia. A solidão também. Tentou fechar os olhos e conseguir dormir. Mas outra voz apareceu. Era a primeira vez que a escutava, mas tinha certeza que o coração a conhecia.
- Frei Abóbora. Meu querido Frei Abóbora.
Quem o chamava assim pelo seu lindo nome? Quem seria? Mas o quarto continuava vazio.
- Meu Frei Abóbora querido.
Continuava sem nada descobrir.
- Aqui, meu querido.
Olhou para onde vinha a voz e descobriu sobre o portal, Zéfinêta "B" que vinha descendo. Descerrou um grande sorriso de prazer nos lábios.
- Minha rainha Zéfinêta "B", Primeira e Única. Você, minha flor?
- Eu e... voando.
Zéfinêta tinha adquirido asas douradas e transparentes e dava voltas pelo quarto, pousando sutilmente sobre a mesa, perto do seu rosto.
- Como é que veio até aqui meu bem?
- Você não vai entender muito "agora". Mas comprei umas asas que ficaram pequenas, as menores de um anjinho que nasceu de sete meses. Ainda precisei mandar recortar um pedaço, pois estavam ainda grandes.
- E por que veio, minha bela rainha?
- Para ensinar o caminho. Agora que você está mais forte. Venho para que você me siga até o caminho da escada.
- Não posso, Zéfinêta.
- Pode sim. Vamos. As muletas estão bem ali.
- Você me dá então cinco minutos.
Falava, implorando quase. Na sua total humildade.
- Preciso ter uma conversa com Deus. Não posso subir uma escada dessas sem ter de fazer antes isso. Só esse tempo. Fique espiando as figuras do jornal e se quiser, meu amor, tape os ouvidos para não escutar coisas talvez desagradáveis.
Ela assentiu e voou para a cadeira de rodas onde estavam amontoadas as folhas do jornal.
- Senhor Deus, eu Vos falo com o máximo respeito e procurando esquecer aquela intimidade amiga que tantos anos partilhamos juntos. Forçoso será dizer-Vos que no meu peito não existe rancor, nem mágoa, nem ódio, e, sobretudo, não existe amor. Na minha mísera condição humana reconheço que apesar de tudo ainda me destes um pouco de paciência. Eis-me aqui aos Vossos pés, talvez para a nossa última e definitiva conversa e o quero fazer de uma maneira humilde.
Fez uma pequena e insignificante pausa. Com dificuldade abriu os braços em cruz.
- Poucas forças tenho para sustentar os meus braços inúteis. Se pudesse estaria em pé ou quando muito de joelhos. Pois bem. Eis-me aqui. Confesso e reconheço todos os meus erros que a vida me obrigou a realizar. Não sei se revivesse novamente teria coragem de os evitar ou os repetir. Talvez os repetisse. Sabeis que tudo que me aconteceu na vida foi conseqüência da perda do amor de Paula. A minha dedicação pelos meus índios tinha muito de fuga e outro tanto do mesmo motivo anterior. Portanto, possivelmente de nada vale. Procurei eliminar-me da importância da vida deixando que minha pessoa adquirisse um nome humílimo. Porque coisa mais modesta e impessoal que uma simples abóbora, não creio existir. Há um pedaço de Bíblia em cada homem. E o Cristo real somos nós mesmos crucificados à solidão. Se juntardes minhas duas muletas elas formarão a cruz dominicana sem cabeça. E foi nessa cruz que a paciência e o ter de existir me crucificaram. Não cri fielmente, sinceramente, no terreno da Revelação porque o Céu que nos foi prometido por ela, era um céu totalmente insuficiente que não me convencia. Prometido pelos dogmas de fé que após a morte o homem seria ciente de todos os mistérios, exceto o da Santíssima Trindade; não me lembro bem se existia algum outro: falha-me a memória, por si só tão gasta. Esclarecidos os diversos mistérios, a alma humana permaneceria numa eternidade sem curiosidade, o que seria fastidioso e nulo. Prometeram-me que eu veria a Vossa face. Pois seja. Eis-me pequeno, inútil, indiferente, sem tristeza, envolvido no mais pobre odor da existência: o meu tristonho cheiro de goiaba. Eis-me aqui. Toda a equação frustrada ou realizada de um ser humano que vai morrer. Na minha posição de condenado, eu Vos suplico com fervor, que trocarei todo o mundo de luz e sabedoria, se por acaso Vós ireis a isso me destinar, por um momento de felicidade onde todos os minutos de sofrimentos eram redimidos pelos segundos de amor. Eu trocaria tudo para ter Paula, que o meu céu fosse o céu do meu amor. Queria vê-la como antigamente, perfeita e linda. Queria ir ao seu encontro perfeito e feliz. Não há em meu coração o menor desejo de Vos magoar. Apenas a morte está me reduzindo ao resto de honestidade que sempre procurei resguardar. Por tudo, o meu muito obrigado.
Abaixou a cabeça e os braços, mas seus olhos não tinham um só vestígio de lágrimas. Elas tinham morrido muito tempo antes.
- Pronto, Zéfinêta.
- Então vamos, Frei Abóbora.
- Resta saber se tenho forças.
- Tem que ter. Lembre-se de quando você remava?
Puxou a cruz dominicana para junto da cama e foi fazendo aquela ginástica horrível a que tinha se acostumado. A tontura subia-lhe à cabeça e as mãos suavam frias. Uma fraqueza incomum o impedia de prosseguir.
- Coragem, meu amigo.
- Não tenho fôlego, Zéfinêta.
- Tem que ter. Lembre-se que quando você remava no Araguaia também pensava que não podia mais e no entanto sempre havia um resto de energia para ajudá-lo. Nesse momento você não pode falhar.
Apoiou-se nas muletas e pendurou as pernas mortas, balançando, que tocavam as pontas dos pés no chão.
Zéfinêta abriu-lhe a porta e só então o cheiro de umidade e mofo substituiu o ar viciado pelo cheiro de goiaba.
- Ali está a sua escada, Frei Abóbora. Você vai subir. Vai trabalhar com seu Talamiro e poder enviar presentes para os seus índios todos.
Sorriu no seu cansaço pensando que ela o entusiasmava, julgando que ele ignorava tudo.
Arrastou-se pelo corredor. Zéfinêta deslizava a seu lado pela parede. Perguntou-lhe:
- Por que deixou de voar?
- Para economizar as asas que são muito difíceis de substituir. Mas não fale agora. Guarde o esforço para a subida.
Ei-la à sua frente. Suja, desgastada como a própria vida. Fedorenta e íngreme.
- Vamos. Coragem, meu amigo.
Se ao menos tivesse uma das pernas ou uma das mãos para segurar-se no corrimão. Firmou-se duramente e o corpo adquiriu um peso despropositado. Subiu um degrau e encostou-se na parede. A camisa estava molhada de suor e os peitos engordecidos se comprimiam pelo esforço.
Zéfinêta o estimulava.
- Isso. Só faltam alguns.
Amiguinha querida. Dizia que faltavam alguns quando aquele era o primeiro. Respirou forte e tornou a subir outro degrau.
- Que bonito! Mais um.
As axilas estavam em fogo e as costas viravam brasas, quando conseguiu atingir o sexto degrau. Aí desanimou mesmo.
- É inútil, Zéfinêta, nunca chegarei lá em cima. Só por milagre.
- Tem que subir, sim.
Nem mais falar podia porque a fala se engolfava numa respiração de esfalfamento e o coração batia com tanta brutalidade que parecia ter-se mudado para a parede. Olhou para cima e os olhos foram tomados de tontura. O corpo tremeu e rolou pela escada. As muletas acompanharam-no na queda.
Ficou caído com o rosto contra" o cimento, sem saber se vivia ainda.
- Ainda é um pouco cedo, Frei Abóbora. Mas não falta muito.
O chão frio, fedendo a mijo, sujeira e cheiro de fumo, foi-lhe devolvendo a realidade. Então teve vontade de chorar. Chorar pela consciência que tinha de sua fraqueza. Só fraqueza. Puxou-se, tentando sentar-se, mas as pernas encontravam-se numa posição que não o permitia.
Zéfinêta estava desesperada.
- Faltava tão pouco. Gemeu baixinho.
- Eu sabia. Eu sabia...
Zéfinêta aproximou-se de sua cabeça.
- Escute. Escute. Você conhece essa voz?
Tentou distingui-la. Se conhecia... Sua ternura não teria tamanha ingratidão para esquecê-la.
A voz estava por toda parte. Vinha do chão, das paredes, das escadas.
Tia Estefânia repetia sua mensagem de otimismo:
"- Um dia se você morrer, não serão anjos que o ajudarão a subir as escadas do céu e sim uma porção de índios."
Um vozerio confuso apareceu na entrada do prédio. Certamente tinham descoberto a sua queda e vinham ajudá-lo a se recuperar. Viu que sombras se amontoavam sobre seu corpo. E eram muitas. O ambiente ficou perfumado pela vida: o cheiro selvagem do óleo de babaçu vinha aparecendo com o aroma do urucum. E com ele, vozes amigas e risonhas.
- Quiarrá, quiarrá, Abó.
- Dioirakrê, dioirakrê, Toerá.
- Decárriqui, decárriqui, Frei Abóbora.
Eram vozes que o convidavam a ir. Mas ir aonde? Centenas e centenas de rostos amigos, pintados, desenhados, de beiços grandes. Todos vinham ajudá-lo.
- Vamos, Frei Abóbora, que você sempre foi bom e nosso irmão. Pegaram pelas axilas e o ajudaram a ficar em pé. Limparam o seu rosto conspurcado e começaram devagar a subir a escada.
Tia Estefânia continuava a rogar a praga da bondade.
- São os índios, não os anjos.
Zéfinêta alegre acompanhava a ascensão do grupo, falando, pela parede.
- Vamos meu amigo tão querido. Paula está lá. Do outro lado da porta. Vamos.
Subitamente todos estacaram. A escada estava toda iluminada por uma luz quase cegante.
Os últimos degraus pareciam envolvidos pela luz do dia mais lindo de sol.
No último degrau divisou seu pai sorrindo. Seu pai que lhe indicava com o dedo os três degraus finais.
- Esses são seus. Esses você tem que subi-los sozinho. Apanhe a sua cruz.
Passaram-lhe as muletas e ficaram todos observando Frei Abóbora que subia. As dificuldades desapareceram. Os amigos ficaram acenando-lhe adeus. Subira horrivelmente cansado, pensando que mais um pouco o seu coração estouraria.
O pai andou pelo corredor. Ab avistou a porta de seu Talamiro com uma placa de letras mal pintadas: alfaiate.
Encaminhou-se para ela; seu pai interceptou-lhe o caminho.
- Essa não. É aquela outra.
Uma porta enorme, ovalada e cheia de luz aparecia à sua frente.
- Caminhe e abra o trinco. A face de Deus não será mais mistério para você.
Estendeu a mão, abriu o trinco e descerrou a porta.
Chuva feia que continuava pela noite adentro. Turga embuçada na capa que escondia as flores e seus encantos, voltava com uma tristeza esquisita que nem sabia explicar. Precisava chegar em casa e mudar os sapatos molhados. A noite não dera nada. Os homens tinham fugido com a chuva.
Limpou os pés nos degraus da porta e caminhou na penumbra. Viu um vulto caído. Parou assustada. Poderia ser um bêbado. Voltou para a porta e girou o comutador da luz.
O que viu fê-la levar a mão à boca para não soltar um grito de dor. Jogou a bolsa e retirou a capa. Ajoelhou-se e com os olhos cheios d'água suspendeu a cabeça de Reimundo.
- Que foi isso, meu santinho?
As lágrimas desciam pelos seus olhos bonitos.
Colou a mão em seu peito e sentiu que ainda respirava.
- Pobrezinho, quer ver que se sentiu mal e quis subir a escada para pedir socorro.
Sabia, pelo respirar fraco, que de nada adiantava pedir socorro. Era melhor que deixasse ele morrer em paz no seu colo. O mais que podia fazer, era chorar.
Abaixou o seu rosto para tentar ouvir a voz que ele deixava escapar baixinho como um fio de água correndo em areia lisa.
- Paula... É você Paula?
Lembrou-se do isqueiro. Aquele o nome que estava gravado. As lágrimas deslizaram mais fortes.
- Paula... Eu não vejo você. Sei que você está linda.
Turga alisava seus cabelos mansamente, para que ele dormisse o grande sono, na ilusão de que era a outra.
- Foi bom assim, Paula. Eu estava tão cansado. Ainda estou, de carregar a minha cruz de muletas.
- Eu vou dormir um pouco, Paula. Só um pouco... Turga falou num sussurro:
- Durma. Durma que faz bem.
E ele dormiu sem dor nenhuma.
Quando amanheceu, os primeiros trabalhadores, operários que saíram, deram com Turga sentada na mesma posição, deixando o homem morto descansar. Tinha os olhos pisados de chorar.
Vieram os moradores ajudar.
Nos olhos de Reimundo havia uma expressão maravilhosa de quem vê uma coisa que olhos humanos não poderiam contemplar.
Em sua boca havia um rictus de deboche como se quisesse explicar:
- Vede o que foi um homem! Nasceu, doeu e morreu. E vós que esperais pelo céu escutai: o céu é apenas uma palavra de uma sílaba que também começa por "C" e termina por "U".
José Mauro de Vasconcelos
O melhor da literatura para todos os gostos e idades















