CONTOS ABSURDOS / Franz Kafka
CONTOS ABSURDOS / Franz Kafka
.
.
.
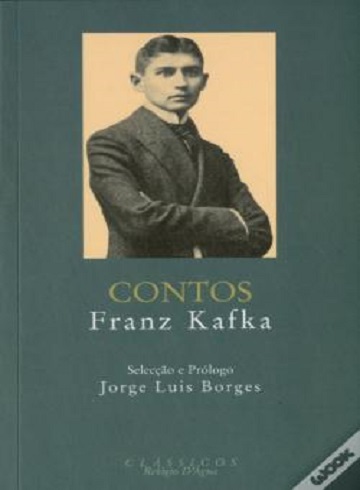
.
.
.
O ENTE HÍBRIDO
O ABUTRE
O SILÊNCIO DAS SEREIAS
O BRASÃO DA CIDADE
UM VELHO MANUSCRITO
UM ARTISTA DO TRAPÉZIO
(A Primeira Dor)
DIANTE DA LEI
DESISTA!
UMA PEQUENA FÁBULA
A PONTE




Biblio VT




A presente coletânea reúne dez narrativas, tão breves quanto absurdas, do célebre escritor tcheco, de expressão alemã, Franz Kafka.
Meio gato, meio cordeiro, um animal parece humanizar-se na angústia de sua híbrida e contraditória existência (“O Ente Híbrido”).
Completamente indefeso, um homem vê os pés feitos em frangalhos pelo assédio terrível de um abutre ferrenho e devastador (“O Abutre”).
Ulisses, amarrado ao mastro de seu navio, resiste não ao canto das sereias, mas a uma arma ainda mais perigosa: o próprio silêncio (“O Silêncio das Sereias”).
Os construtores da Torre de Babel conceberam um projeto grandioso, proveitoso e irresistível, mas cuja execução, sempre postergada, é uma fonte imorredoura de discórdia (“O Brasão da Cidade”).
“Um Velho Manuscrito” retrata a atribulação de um povo cujos governantes se curvam ao terrível domínio de estrangeiros bárbaros e nômades.
Em “Um Artista do Trapézio”, sentimos o desespero de um homem exímio em sua arte, mas subjugado pelo tirânico afã de perfeição.
“Diante da Lei” revela a angústia de um camponês que pretende, obstinadamente, adentrar a porta da Lei. Mas, diante dela, há porteiro inflexível, que, sem qualquer justificativa, lhe obsta sempre a entrada, malgrado não lhe suprima a esperança.
No brevíssimo conto “Desista!”, acompanhamos a aflição de um homem que, atrasado para apanhar um trem numa estação ferroviária de uma cidade desconhecida, procura a ajuda de quem pode e deve ajudá-lo.
Um rato vê o mundo estreitar-se, confinando-o; e, em cada extremo, o perigo (“Uma pequena fábula”).
Em “A Ponte”, narrativa pungente, o protagonista é uma ponte-homem atravessada sobre um precipício. Ela espera, em febril expectativa, o momento de ser útil, de permitir a travessia segura dos transeuntes, apesar de todos os perigos inerentes à sua condição.
O que se oculta sob as absurdas circunstâncias dessas estranhas narrativas? Como sempre, a obra de Kafka é um perene e instigante desafio. E profundamente significativa...
Meio gato, meio cordeiro, um animal parece humanizar-se na angústia de sua híbrida e contraditória existência (“O Ente Híbrido”).
Completamente indefeso, um homem vê os pés feitos em frangalhos pelo assédio terrível de um abutre ferrenho e devastador (“O Abutre”).
Ulisses, amarrado ao mastro de seu navio, resiste não ao canto das sereias, mas a uma arma ainda mais perigosa: o próprio silêncio (“O Silêncio das Sereias”).
Os construtores da Torre de Babel conceberam um projeto grandioso, proveitoso e irresistível, mas cuja execução, sempre postergada, é uma fonte imorredoura de discórdia (“O Brasão da Cidade”).
“Um Velho Manuscrito” retrata a atribulação de um povo cujos governantes se curvam ao terrível domínio de estrangeiros bárbaros e nômades.
Em “Um Artista do Trapézio”, sentimos o desespero de um homem exímio em sua arte, mas subjugado pelo tirânico afã de perfeição.
“Diante da Lei” revela a angústia de um camponês que pretende, obstinadamente, adentrar a porta da Lei. Mas, diante dela, há porteiro inflexível, que, sem qualquer justificativa, lhe obsta sempre a entrada, malgrado não lhe suprima a esperança.
No brevíssimo conto “Desista!”, acompanhamos a aflição de um homem que, atrasado para apanhar um trem numa estação ferroviária de uma cidade desconhecida, procura a ajuda de quem pode e deve ajudá-lo.
Um rato vê o mundo estreitar-se, confinando-o; e, em cada extremo, o perigo (“Uma pequena fábula”).
Em “A Ponte”, narrativa pungente, o protagonista é uma ponte-homem atravessada sobre um precipício. Ela espera, em febril expectativa, o momento de ser útil, de permitir a travessia segura dos transeuntes, apesar de todos os perigos inerentes à sua condição.
O que se oculta sob as absurdas circunstâncias dessas estranhas narrativas? Como sempre, a obra de Kafka é um perene e instigante desafio. E profundamente significativa...
.
.
.
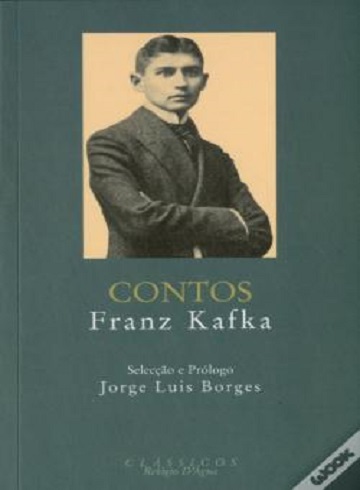
.
.
.
O ENTE HÍBRIDO
Eu tenho um animal curioso: metade gatinho, metade cordeiro. É parte da herança de meu pai. Sob minha guarda, ele se desenvolveu completamente. Antes, era mais cordeiro do que gato. Agora é gato e cordeiro em partes iguais. Ele tem do gato a cabeça e as garras; do cordeiro, o tamanho e a forma. E, de ambos, os olhos, mas agitados e selvagens, assim como os pelos, macios e rentes ao corpo. Os seus movimentos são saltitantes e sorrateiros. Ao sol, no peitoril da janela, enovela-se e ronrona. No campo, corre como um louco e ninguém o alcança. Ele foge dos gatos e tenta atacar os cordeiros. Nas noites de luar, apraz-lhe passear sobre as calhas dos telhados. Não sabe miar e abomina os ratos. Passa longas horas espreitando o galinheiro, mas jamais aproveitou uma oportunidade para assassinar.
Eu o alimento com leite adocicado. É o que lhe cai melhor. Com grandes goles, ele sorve o leite por entre os seus dentes de predador. Naturalmente, é um grande espetáculo para as crianças. O horário de visitas é nas manhãs de domingo. Sento-me com o animal no colo e as crianças de toda a vizinhanças se reúnem ao meu redor.
Elas enchem-me das mais extraordinárias perguntas, às quais ninguém pode responder. Por que há somente um animal assim? Por que justamente eu sou o seu dono? Houvera antes um animal como ele? E depois que ele morrer, como fica? E ele não se sente solitário? Por que não tem crias? Como ele se chama? E assim por diante.
Não me dou ao trabalho de respondê-las. Limito-me a mostrar-lhes o que tenho, sem maiores explicações. Às vezes, as crianças trazem gatos. Uma vez chegaram mesmo a trazer cordeiros. Contra todas as suas expectativas, não houve cenas de reconhecimento. Os animais se entreolharam, tranquilamente, com suas miradas de animais, e aceitaram mutuamente as suas existências como um fato divino.
No meu colo, o animal não sente medo nem o desejo de caça. Quando aconchegado a mim, ele se sente mais feliz. Ele é apegado à família que o albergou. Essa fidelidade não é extraordinária: é o legítimo instinto de um animal que, embora tenha na terra inúmeros semelhantes, não tem um só parente consanguíneo. Eis por que para ele é sagrada a proteção que encontrou em nosso lar.
Às vezes, tenho que rir quando ele resfolega ao meu redor e se enreda entre as minhas pernas, sem jamais querer afastar-se de mim. Como se não bastasse ser gato e cordeiro, quer ser cão também.
Certa feita – e isso pode acontecer com qualquer pessoa –, eu não via como escapar dos apertos financeiros, e estava prestes a acabar com tudo. Com essa ideia, eu estava recostado numa cadeira de balanço, em meu quarto, com o animal no colo. Casualmente, baixei os olhos e vi lágrimas gotejando de seus longos bigodes. As lágrimas eram suas ou minhas? Teria aquele gato, de alma de cordeiro, a ambição de um homem? Não herdei muito de meu pai, mas posso me orgulhar deste legado.
Acredito seriamente nisto. Ele tem em si tanto a inquietude do gato quanto a do cordeiro, embora estas sejam diferentes. Por isso ele sente-se tão incomodado na própria pele. Às vezes, ele salta à cadeira de balanço, apoia as patas dianteiras em meu ombro, e toca-me o ouvido com o focinho. É como se falasse comigo. De fato, ele vira a cabeça para mim e me olha, observando o efeito que a sua comunicação produziu em mim. Para comprazê-lo, ajo como se o compreendesse, balançando a cabeça. Então, ele salta ao chão para brincar.
Talvez a faca do açougueiro seja um alívio para esse animal, mas ele é uma herança de família e, por isso, eu tenho que lhe negar o favor. Por isso, ele deve esperar até que deixe de respirar por si próprio, malgrado às vezes ele me olhe com os olhos da razão humana, exigindo de mim uma atitude razoável.
Eu o alimento com leite adocicado. É o que lhe cai melhor. Com grandes goles, ele sorve o leite por entre os seus dentes de predador. Naturalmente, é um grande espetáculo para as crianças. O horário de visitas é nas manhãs de domingo. Sento-me com o animal no colo e as crianças de toda a vizinhanças se reúnem ao meu redor.
Elas enchem-me das mais extraordinárias perguntas, às quais ninguém pode responder. Por que há somente um animal assim? Por que justamente eu sou o seu dono? Houvera antes um animal como ele? E depois que ele morrer, como fica? E ele não se sente solitário? Por que não tem crias? Como ele se chama? E assim por diante.
Não me dou ao trabalho de respondê-las. Limito-me a mostrar-lhes o que tenho, sem maiores explicações. Às vezes, as crianças trazem gatos. Uma vez chegaram mesmo a trazer cordeiros. Contra todas as suas expectativas, não houve cenas de reconhecimento. Os animais se entreolharam, tranquilamente, com suas miradas de animais, e aceitaram mutuamente as suas existências como um fato divino.
No meu colo, o animal não sente medo nem o desejo de caça. Quando aconchegado a mim, ele se sente mais feliz. Ele é apegado à família que o albergou. Essa fidelidade não é extraordinária: é o legítimo instinto de um animal que, embora tenha na terra inúmeros semelhantes, não tem um só parente consanguíneo. Eis por que para ele é sagrada a proteção que encontrou em nosso lar.
Às vezes, tenho que rir quando ele resfolega ao meu redor e se enreda entre as minhas pernas, sem jamais querer afastar-se de mim. Como se não bastasse ser gato e cordeiro, quer ser cão também.
Certa feita – e isso pode acontecer com qualquer pessoa –, eu não via como escapar dos apertos financeiros, e estava prestes a acabar com tudo. Com essa ideia, eu estava recostado numa cadeira de balanço, em meu quarto, com o animal no colo. Casualmente, baixei os olhos e vi lágrimas gotejando de seus longos bigodes. As lágrimas eram suas ou minhas? Teria aquele gato, de alma de cordeiro, a ambição de um homem? Não herdei muito de meu pai, mas posso me orgulhar deste legado.
Acredito seriamente nisto. Ele tem em si tanto a inquietude do gato quanto a do cordeiro, embora estas sejam diferentes. Por isso ele sente-se tão incomodado na própria pele. Às vezes, ele salta à cadeira de balanço, apoia as patas dianteiras em meu ombro, e toca-me o ouvido com o focinho. É como se falasse comigo. De fato, ele vira a cabeça para mim e me olha, observando o efeito que a sua comunicação produziu em mim. Para comprazê-lo, ajo como se o compreendesse, balançando a cabeça. Então, ele salta ao chão para brincar.
Talvez a faca do açougueiro seja um alívio para esse animal, mas ele é uma herança de família e, por isso, eu tenho que lhe negar o favor. Por isso, ele deve esperar até que deixe de respirar por si próprio, malgrado às vezes ele me olhe com os olhos da razão humana, exigindo de mim uma atitude razoável.
O ABUTRE
O abutre bicava os meus pés. Já me havia dilacerado os sapatos e as meias, e agora bicava-me os próprios pés. Sempre que me arrancava um pedaço, voava, inquieto, várias vezes ao meu redor, e depois prosseguia o seu trabalho. Passou um cavalheiro, olhou-nos uns instantes e me perguntou por que eu tolerava o abutre.
– Estou indefeso – respondi. – Quando ele chegou e começou a me atacar, eu, naturalmente, tentei espantá-lo, e mesmo pensei em torcer-lhe o pescoço. Mas esses animais são muito fortes e este estava prestes a saltar à minha cara. Preferi sacrificar os pés. Agora eles estão quase despedaçados.
– Não se deixe atormentar com isto – disse o cavalheiro. – Basta um tiro e é o fim do abutre.
– Acha mesmo? – perguntei. – E o senhor faria isto por mim?
– Com prazer – disse o cavalheiro. – Só preciso apanhar meu fuzil em casa. Pode suportar mais meia hora?
– Não estou certo disto – respondi e, por um instante, fiquei rígido de dor. Depois, acresci:
– Por favor, tente de qualquer forma.
– Muito bem – disse o senhor –, irei o mais rápido que puder.
Em silêncio, o abutre ouvira tranquilamente o nosso diálogo e deixara vagar o olhar ente mim e o cavalheiro. Naquele instante, percebi que ele compreendia tudo. O abutre voou um pouco mais distante, recuou para obter um bom impulso e, como um atleta que arremessa o dardo, enfiou profundamente o bico em minha boca.
Ao cair de costas, senti-me aliviado. Senti que no meu sangue – e este me preenchia todas as profundidades e me inundava todas as margens – o abutre, irremediavelmente, se afogava.
– Estou indefeso – respondi. – Quando ele chegou e começou a me atacar, eu, naturalmente, tentei espantá-lo, e mesmo pensei em torcer-lhe o pescoço. Mas esses animais são muito fortes e este estava prestes a saltar à minha cara. Preferi sacrificar os pés. Agora eles estão quase despedaçados.
– Não se deixe atormentar com isto – disse o cavalheiro. – Basta um tiro e é o fim do abutre.
– Acha mesmo? – perguntei. – E o senhor faria isto por mim?
– Com prazer – disse o cavalheiro. – Só preciso apanhar meu fuzil em casa. Pode suportar mais meia hora?
– Não estou certo disto – respondi e, por um instante, fiquei rígido de dor. Depois, acresci:
– Por favor, tente de qualquer forma.
– Muito bem – disse o senhor –, irei o mais rápido que puder.
Em silêncio, o abutre ouvira tranquilamente o nosso diálogo e deixara vagar o olhar ente mim e o cavalheiro. Naquele instante, percebi que ele compreendia tudo. O abutre voou um pouco mais distante, recuou para obter um bom impulso e, como um atleta que arremessa o dardo, enfiou profundamente o bico em minha boca.
Ao cair de costas, senti-me aliviado. Senti que no meu sangue – e este me preenchia todas as profundidades e me inundava todas as margens – o abutre, irremediavelmente, se afogava.
O SILÊNCIO DAS SEREIAS
Eis a prova de que há meios inadequados, quase infantis, que podem servir para a salvação:
Para se proteger do canto das sereias, Ulisses tapou os ouvidos com cera e se amarrou ao mastro da embarcação. Embora todos soubessem que este recurso era ineficaz, muitos navegantes poderiam ter feito o mesmo, afora os que já haviam sido, desde longe, fisgados pelas sereias. O canto das sereias transpassava tudo e a paixão dos seduzidos desvencilhava prisões mais robustas que mastros e correntes. Ulisses, todavia, não pensou nisto, embora algo a respeito talvez já lhe tivesse chegado aos ouvidos. Confiou completamente naquele punhado de cera e no feixe das correntes. Satisfeito com seus pequenos estratagemas, navegou por entre as sereias com inocente alegria.
Todavia, as sereias possuíam uma arma muito mais terrível que o canto: o seu silêncio. Malgrado isto não tenha acontecido, é possível que alguém tenha se salvado de seus cantos. Não assim de seu silêncio. Nenhum sentimento terreno pode equiparar-se à jactância, que consigo a tudo arrasta, de tê-las vencido por suas próprias forças.
Mas, realmente, as terríveis sedutoras não cantaram quando Ulisses passou. Talvez porque acreditassem que somente poderiam dobrar aquele inimigo com o silêncio, talvez porque a maravilha de felicidade no rosto de Ulisses – que só pensava em correntes e em ceras – fizessem-nas esquecer de todo e qualquer canto.
Ulisses – se assim é possível exprimir – não ouviu o silêncio. Estava convencido de que elas cantavam, e que só ele estava a salvo do fatídico canto. Fugazmente, viu as ondulações de seus pescoços, a respiração profunda, os olhos cheios de lágrimas, os lábios entreabertos. Acreditava que tudo era parte de uma melodia que fluía inaudível a seu redor. O espetáculo começou a desvanecer-se repentinamente. As sereias se esfumaram diante de sua determinação, e, precisamente quando se achava mais próximo delas, Ulisses já não mais as levava em conta.
E elas, mais belas do que nunca, espichavam o corpo e se contorciam. Soltavam as suas terríveis cabeleiras ao vento, abriam suas garras sobre os rochedos. Já não pretendiam seduzir: queriam apenas capturar por mais um instante o fulgor dos grandes olhos de Ulisses.
Se as sereias tivessem consciência, teriam sido, então, inteiramente destruídas. Mas elas continuaram como estavam, e Ulisses escapou.
Aliás, chegou aos nossos dias um apêndice à história. Diz-se que Ulisses era tão astuto, tão ladino, que até mesmo a deusa do destino era incapaz de penetrar em seu imo. Por mais que isto seja inconcebível à mente humana, talvez Ulisses tenha percebido que as sereias haviam silenciado, e resistiu a elas e aos deuses representado, à guisa de escudo, a farsa acima narrada.
Para se proteger do canto das sereias, Ulisses tapou os ouvidos com cera e se amarrou ao mastro da embarcação. Embora todos soubessem que este recurso era ineficaz, muitos navegantes poderiam ter feito o mesmo, afora os que já haviam sido, desde longe, fisgados pelas sereias. O canto das sereias transpassava tudo e a paixão dos seduzidos desvencilhava prisões mais robustas que mastros e correntes. Ulisses, todavia, não pensou nisto, embora algo a respeito talvez já lhe tivesse chegado aos ouvidos. Confiou completamente naquele punhado de cera e no feixe das correntes. Satisfeito com seus pequenos estratagemas, navegou por entre as sereias com inocente alegria.
Todavia, as sereias possuíam uma arma muito mais terrível que o canto: o seu silêncio. Malgrado isto não tenha acontecido, é possível que alguém tenha se salvado de seus cantos. Não assim de seu silêncio. Nenhum sentimento terreno pode equiparar-se à jactância, que consigo a tudo arrasta, de tê-las vencido por suas próprias forças.
Mas, realmente, as terríveis sedutoras não cantaram quando Ulisses passou. Talvez porque acreditassem que somente poderiam dobrar aquele inimigo com o silêncio, talvez porque a maravilha de felicidade no rosto de Ulisses – que só pensava em correntes e em ceras – fizessem-nas esquecer de todo e qualquer canto.
Ulisses – se assim é possível exprimir – não ouviu o silêncio. Estava convencido de que elas cantavam, e que só ele estava a salvo do fatídico canto. Fugazmente, viu as ondulações de seus pescoços, a respiração profunda, os olhos cheios de lágrimas, os lábios entreabertos. Acreditava que tudo era parte de uma melodia que fluía inaudível a seu redor. O espetáculo começou a desvanecer-se repentinamente. As sereias se esfumaram diante de sua determinação, e, precisamente quando se achava mais próximo delas, Ulisses já não mais as levava em conta.
E elas, mais belas do que nunca, espichavam o corpo e se contorciam. Soltavam as suas terríveis cabeleiras ao vento, abriam suas garras sobre os rochedos. Já não pretendiam seduzir: queriam apenas capturar por mais um instante o fulgor dos grandes olhos de Ulisses.
Se as sereias tivessem consciência, teriam sido, então, inteiramente destruídas. Mas elas continuaram como estavam, e Ulisses escapou.
Aliás, chegou aos nossos dias um apêndice à história. Diz-se que Ulisses era tão astuto, tão ladino, que até mesmo a deusa do destino era incapaz de penetrar em seu imo. Por mais que isto seja inconcebível à mente humana, talvez Ulisses tenha percebido que as sereias haviam silenciado, e resistiu a elas e aos deuses representado, à guisa de escudo, a farsa acima narrada.
O BRASÃO DA CIDADE
Inicialmente, a construção da Torre de Babel mantinha uma ordem tolerável. De fato, talvez a organização fosse excessiva. Pensava-se muito em sinalização, intérpretes, alojamentos para os operários e vias de comunicação, como se descortinassem de séculos de oportunidade de empregos. A opinião então prevalecente era a de que toda a lentidão na construção seria adequada. Não era necessário esforço para enxergar-se tal opinião e mesmo era lícito que alguém se refreasse no lançamento dos alicerces. Pensava-se assim: o essencial estava na própria ideia de construir uma torre que alcançasse os céus; o restante era secundário. Essa ideia, visto como concebida com tamanha grandeza, não poderia desaparecer: enquanto houvesse homens na terra, existiria também o firme desejo de terminar a torre. Portanto, qualquer preocupação com o futuro seria desnecessária. Ao contrário: o conhecimento humano cresce com o tempo, a arquitetura experimenta avanços e continuará o seu progresso. Daí a um século, um trabalho de um ano seria, talvez, rematado em seis meses. E com melhor e mais duradouro resultado. Portanto, por que motivo alguém deveria extenuar-se até os limites de suas forças? O esforço somente faria sentido se houvesse a expectativa de que a obra estaria acabada no lapso de uma geração. Mas tal expectativa era inconcebível. Era mais provável que a nova geração, com seus conhecimentos superiores, condenasse o trabalho da geração anterior e viesse a demolir tudo o que fora construído, para recomeçar tudo novamente. Tais pensamentos paralisaram os ímpetos, e pensou-se mais em construir uma cidade para os operários do que em erigir a própria torre. Cada grupo nacional reivindicava o mais belo bairro e isto deu lugar a disputas que culminaram em batalhas sangrentas. Estas batalhas jamais cessavam. Para os dirigentes, urdiram um novo argumento para que a torre, em razão, também, da falta de concentração, somente fosse edificada muito devagar, preferivelmente depois da paz generalizada. Mas não apenas em disputas gastava-se o tempo. Nos momentos de trégua, cuidavam de embelezar a cidade, o que provocava mais inveja e novas disputas. Assim se consumiu o tempo da primeira geração, e com nenhuma das seguintes foi diferente. Somente se ampliava a destreza técnica e, com ela, a ânsia de guerra. Malgrado a segunda ou a terceira geração houvesse reconhecido a insensatez de uma torre que chegasse ao céu, as pessoas já estavam demasiadamente interligadas para abandonar a cidade.
A profecia de que cinco sucessivos golpes, de um punho gigantesco, aniquilarão a cidade imiscui-se em todas as lendas e trovas daquela cidade. É por esta razão que ela ostenta um punho em seu brasão.
A profecia de que cinco sucessivos golpes, de um punho gigantesco, aniquilarão a cidade imiscui-se em todas as lendas e trovas daquela cidade. É por esta razão que ela ostenta um punho em seu brasão.
UM VELHO MANUSCRITO
É como se muita coisa houvesse sido negligenciada à defesa da nossa pátria. Até agora, não nos havíamos importado com isso, ocupados que estávamos com a nossa faina cotidiana. Mas os acontecimentos dos últimos tempos nos têm preocupado.
Tenho uma oficina de sapateiro na praça que fica em frente ao palácio imperial. Mal abro a minha oficina ao amanhecer e já vejo os acessos de todas as ruas que aqui desembocam ocupadas por homens armados. Não são os nossos soldados, mas, evidentemente, os nômades vindos do Norte. De uma forma incompreensível para mim, abriram passos até a capital que, todavia, está muito distante da fronteira. De toda forma, já estão aqui e parece que a cada dia são mais numerosos.
Conforme o seu costume, eles acampam ao ar livre porque odeiam casas. Ocupam o seu tempo afiando as espadas, aguçando as pontas das lanças e exercitando-se a cavalo. Fizeram de verdadeiro estábulo esta praça tranquila, mantida sempre escrupulosamente limpa. É bem verdade que, às vezes, tentamos sair de nossas lojas para retirar ao menos a maior parte da sujeira, mas isto ocorre com menor frequência, pois o esforço é inútil e, além disso, expomo-nos ao perigo de cair sob as patas dos furiosos cavalos ou aos ferimentos causados pelos chicotes.
Não é possível falar com os nômades. Eles não conhecem a nossa língua, já que mal têm uma língua própria. Entendem-se entre si de uma forma semelhante à das gralhas. Ouvem-se frequentemente esses gritos de gralhas. Nosso modo de viver e nossas instituições lhes são tão incompreensíveis quanto indiferentes. Por esta razão, recusam-se também à linguagem de sinais. Você pode deslocar as mandíbulas e torcer as mãos: eles não o compreendem e nem jamais o compreenderão. Às vezes fazem caretas; volteiam o branco dos olhos e deixam sair a espuma da boca. Mas não pretendem dizer nada com isto, nem assustar ninguém. Fazem-no porque é este é o seu modo de ser. Apoderam-se de tudo o que necessitam. Não se pode afirmar que usem da violência. Ante a sua intervenção, as pessoas se põem de lado e deixam tudo à sua mercê.
Também tomaram uma boa parte de minhas provisões. Mas não posso me queixar disto quando vejo o que acontece ao açougueiro. Mal ele traz as suas mercadorias, e tudo já lhe foi arrebatado e devorado pelos nômades. Os seus cavalos comem carne. Às vezes um cavaleiro para ao lado do seu cavalo e os dois se alimentam do mesmo pedaço de carne, cada qual por uma extremidade. O açougueiro tem medo e não ousa acabar com o fornecimento de carne. Todavia, nós entendemos o que acontece, juntamos dinheiro e o ajudamos. Se os nômades não recebessem carne alguma, quem sabe o que lhes ocorreria fazer? De qualquer maneira, quem sabe o que lhes vai ocorrer, mesmo que recebam carne diariamente?
Há pouco, o açougueiro pensou que poderia, pelo menos, livrar-se do esforço do abate: numa manhã, trouxe um boi vivo. Isto jamais voltará a acontecer. Eu permaneci por cerca de uma hora estendido, fincado no chão, no fundo de minha oficina, com todas as roupas, cobertas e almofadas colocadas sobre mim, somente para não ouvir os mugidos do boi sobre os quais os nômades se lançaram, de todos os lados, para arrancar com os dentes pedaços de carne quente. Quando ousei sair, já fazia silêncio há um bom tempo. Cansados, estavam deitados em torno das carcaças do boi como bêbados em volta de um barril de vinho.
Precisamente naquela ocasião acreditei ter visto o imperador em pessoa numa janela do palácio. Noutras ocasiões, ele nunca vinha a esses aposentos exteriores, pois vive sempre nos jardins mais profundos. Mas, desta feita, ao menos assim me pareceu, ele estava na janela e olhava, de cabeça baixa, o que acontecia diante do seu castelo.
— O que irá acontecer? — todos nós nos perguntamos. — Por quanto tempo vamos suportar este peso e este tormento? O palácio imperial atraiu os nômades, mas não sabe como expulsá-los. O portão permanece fechado. A guarda, que antes entrava e saía desfilando alegremente, mantém-se, agora, atrás das janelas gradeadas. A salvação da pátria foi confiada a nós, artesãos e comerciante. Mas não estamos em condições de fazer frente a semelhante missão, nem jamais nos vangloriamos de estar. É um equívoco e todos nós pereceremos em por causa dele.
Tenho uma oficina de sapateiro na praça que fica em frente ao palácio imperial. Mal abro a minha oficina ao amanhecer e já vejo os acessos de todas as ruas que aqui desembocam ocupadas por homens armados. Não são os nossos soldados, mas, evidentemente, os nômades vindos do Norte. De uma forma incompreensível para mim, abriram passos até a capital que, todavia, está muito distante da fronteira. De toda forma, já estão aqui e parece que a cada dia são mais numerosos.
Conforme o seu costume, eles acampam ao ar livre porque odeiam casas. Ocupam o seu tempo afiando as espadas, aguçando as pontas das lanças e exercitando-se a cavalo. Fizeram de verdadeiro estábulo esta praça tranquila, mantida sempre escrupulosamente limpa. É bem verdade que, às vezes, tentamos sair de nossas lojas para retirar ao menos a maior parte da sujeira, mas isto ocorre com menor frequência, pois o esforço é inútil e, além disso, expomo-nos ao perigo de cair sob as patas dos furiosos cavalos ou aos ferimentos causados pelos chicotes.
Não é possível falar com os nômades. Eles não conhecem a nossa língua, já que mal têm uma língua própria. Entendem-se entre si de uma forma semelhante à das gralhas. Ouvem-se frequentemente esses gritos de gralhas. Nosso modo de viver e nossas instituições lhes são tão incompreensíveis quanto indiferentes. Por esta razão, recusam-se também à linguagem de sinais. Você pode deslocar as mandíbulas e torcer as mãos: eles não o compreendem e nem jamais o compreenderão. Às vezes fazem caretas; volteiam o branco dos olhos e deixam sair a espuma da boca. Mas não pretendem dizer nada com isto, nem assustar ninguém. Fazem-no porque é este é o seu modo de ser. Apoderam-se de tudo o que necessitam. Não se pode afirmar que usem da violência. Ante a sua intervenção, as pessoas se põem de lado e deixam tudo à sua mercê.
Também tomaram uma boa parte de minhas provisões. Mas não posso me queixar disto quando vejo o que acontece ao açougueiro. Mal ele traz as suas mercadorias, e tudo já lhe foi arrebatado e devorado pelos nômades. Os seus cavalos comem carne. Às vezes um cavaleiro para ao lado do seu cavalo e os dois se alimentam do mesmo pedaço de carne, cada qual por uma extremidade. O açougueiro tem medo e não ousa acabar com o fornecimento de carne. Todavia, nós entendemos o que acontece, juntamos dinheiro e o ajudamos. Se os nômades não recebessem carne alguma, quem sabe o que lhes ocorreria fazer? De qualquer maneira, quem sabe o que lhes vai ocorrer, mesmo que recebam carne diariamente?
Há pouco, o açougueiro pensou que poderia, pelo menos, livrar-se do esforço do abate: numa manhã, trouxe um boi vivo. Isto jamais voltará a acontecer. Eu permaneci por cerca de uma hora estendido, fincado no chão, no fundo de minha oficina, com todas as roupas, cobertas e almofadas colocadas sobre mim, somente para não ouvir os mugidos do boi sobre os quais os nômades se lançaram, de todos os lados, para arrancar com os dentes pedaços de carne quente. Quando ousei sair, já fazia silêncio há um bom tempo. Cansados, estavam deitados em torno das carcaças do boi como bêbados em volta de um barril de vinho.
Precisamente naquela ocasião acreditei ter visto o imperador em pessoa numa janela do palácio. Noutras ocasiões, ele nunca vinha a esses aposentos exteriores, pois vive sempre nos jardins mais profundos. Mas, desta feita, ao menos assim me pareceu, ele estava na janela e olhava, de cabeça baixa, o que acontecia diante do seu castelo.
— O que irá acontecer? — todos nós nos perguntamos. — Por quanto tempo vamos suportar este peso e este tormento? O palácio imperial atraiu os nômades, mas não sabe como expulsá-los. O portão permanece fechado. A guarda, que antes entrava e saía desfilando alegremente, mantém-se, agora, atrás das janelas gradeadas. A salvação da pátria foi confiada a nós, artesãos e comerciante. Mas não estamos em condições de fazer frente a semelhante missão, nem jamais nos vangloriamos de estar. É um equívoco e todos nós pereceremos em por causa dele.
UM ARTISTA DO TRAPÉZIO
(A Primeira Dor)
Um artista do trapézio (como se sabe, esta arte praticada no alto das cúpulas dos grandes circos é uma das mais difíceis de todas as realizáveis pelo homem) havia organizado sua vida de tal maneira — primeiro por afã profissional de perfeição, depois por um costume que se fizera tirânico— que, enquanto trabalhava para a mesma companhia, permanecia dia e noite no trapézio. Todas as suas necessidades — aliás, muito pequenas — eram satisfeitas por criados que, embaixo, ficavam a vigiá-lo, revezando-se a intervalos. Tudo o que lá em cima era necessário, faziam subir ou descer em cestinhos a tal fim preparados.
Esta maneira de viver não trazia para o trapezista dificuldades com o resto do mundo. Criava, somente, algum incômodo para os demais números do programa, porque não se podia ocultar que ele estava o tempo inteiro lá em cima e, malgrado ele permanecesse quieto, sempre alguns olhares do público se desviavam para ele. Mas os diretores perdoavam-no porque era um artista extraordinário, insubstituível. Além disso, sabia-se que não vivia assim por capricho e que somente daquela maneira ele podia estar sempre treinado, conservando, pois, a extrema perfeição de sua arte.
Ademais, lá em cima ele estava sempre muito bem. Quando, nos dias cálidos de verão, abriam-se as janelas laterais que ficavam redor da cúpula, e o sol e o ar irrompiam no âmbito crepuscular do circo, até era belo. Sua convivência humana era muito limitada, naturalmente. Às vezes, algum colega de turnê trepava pela corda de ascensão, sentava-se a seu lado no trapézio, e, apoiado um na corda da direita e o outro na da esquerda, conversavam longamente. Ou alguns operários que consertavam o teto trocavam algumas palavras com ele através de uma das claraboias, ou o eletricista, que verificava os fios na galeria mais alta, gritava-lhe alguma palavra respeitosa, se bem que bem pouco compreensível.
Salvo nestas circunstâncias, estava sempre solitário. Às vezes, um empregado errava, cansadamente, na hora da sesta, pelo circo vazio, e elevava o olhar à quase atraente altura em que o trapezista descansava ou se exercitava em sua arte, sem saber que era observado.
Assim, poderia viver tranquilo o artista do trapézio não fossem as inevitáveis viagens de lugar em lugar, que o incomodavam extraordinariamente. Certo é que o empresário cuidava de que este sofrimento não se prolongasse desnecessariamente. O trapezista saía para a estação num automóvel de corrida que voava, de madrugada, pelas ruas desertas, à máxima velocidade (mas demasiado lento a para sua saudade do trapézio).
No trem, estava reservado um camarote só para ele, onde encontrava, em cima, na pequena rede de bagagem, uma substituição mesquinha — mas de algum modo equivalente — à sua maneira de viver.
No local de destino, já se encontrava montado o trapézio muito antes de sua chegada, quando o palco não fora armado e nem as portas colocadas. Para o empresário, o momento mais prazeroso era aquele em que o trapezista apoiava o pé na corda de subida e num instante içava-se ao seu trapézio. Apesar de todas essas precauções, as viagens perturbavam gravemente os nervos do trapezista, de modo que, por mais felizes que resultassem, do ponto de vista econômico, para o empresário, sempre eram penosas ao artista.
Certa feita, quando viajavam — o artista na rede, como se sonhasse, e o empresário junto à janela, lendo um livro —, o homem do trapézio interpelou o chefe suavemente. E disse-lhe, mordendo os lábios, que, doravante, necessitava, para viver, não de um trapézio apenas, como até então, mas de dois, um de frente ao outro.
O empresário prontamente aquiesceu. Mas o trapezista, como se quisesse demonstrar que a aceitação do empresário não tinha mais importância que a recusa, acrescentou que nunca mais, em nenhuma ocasião, trabalharia sobre um só trapézio. Parecia horrorizar-se diante da ideia de fazê-lo novamente. O empresário, detendo-se e observando seu artista, declarou novamente a sua absoluta conformidade. Dois trapézios seriam melhores do que apenas um. Além disso, os novos trapézios seriam mais vantajosos, proporcionando evoluções mais variadas e vistosas.
Mas o artista pôs-se a chorar subitamente. O empresário, profundamente comovido, levantou-se de um salto e perguntou o que havia, e, como não recebeu resposta alguma, subiu à rede, afagou-o, abraçou-o e encostou o seu rosto no dele, até sentir as lágrimas em sua pele. Depois de muitas perguntas e palavras carinhosas, o trapezista exclamou, soluçando:
—Só com uma barra nas mãos! Como eu poderia viver assim?
Então, foi mais fácil ao empresário consolá-lo. Prometeu-lhe que na primeira estação, na primeira parada, no primeiro hotel telegrafaria para que instalassem o segundo trapézio, e censurou a si mesmo duramente pela crueldade de ter deixado o artista trabalhar por tanto tempo com um único trapézio. Enfim, agradeceu-lhe por ter-lhe feito notar, finalmente, aquela omissão imperdoável. De toda sorte, o empresário pôde tranquilizar o artista e voltar ao seu lugar.
O empresário, todavia, não estava tranquilo. Com grave preocupação espiava-o, às furtadelas, por cima do livro. Se semelhantes pensamentos haviam começado a atormentá-lo, poderiam cessar por completo? Não continuariam aumentando dia a dia? Não iriam ameaçar-lhe a existência? E o empresário, alarmado, julgou ver naquele sono aparentemente tranquilo, em que havia terminado o pranto, começar a desenhar-se a primeira ruga na lisa fronte infantil do artista do trapézio.
Esta maneira de viver não trazia para o trapezista dificuldades com o resto do mundo. Criava, somente, algum incômodo para os demais números do programa, porque não se podia ocultar que ele estava o tempo inteiro lá em cima e, malgrado ele permanecesse quieto, sempre alguns olhares do público se desviavam para ele. Mas os diretores perdoavam-no porque era um artista extraordinário, insubstituível. Além disso, sabia-se que não vivia assim por capricho e que somente daquela maneira ele podia estar sempre treinado, conservando, pois, a extrema perfeição de sua arte.
Ademais, lá em cima ele estava sempre muito bem. Quando, nos dias cálidos de verão, abriam-se as janelas laterais que ficavam redor da cúpula, e o sol e o ar irrompiam no âmbito crepuscular do circo, até era belo. Sua convivência humana era muito limitada, naturalmente. Às vezes, algum colega de turnê trepava pela corda de ascensão, sentava-se a seu lado no trapézio, e, apoiado um na corda da direita e o outro na da esquerda, conversavam longamente. Ou alguns operários que consertavam o teto trocavam algumas palavras com ele através de uma das claraboias, ou o eletricista, que verificava os fios na galeria mais alta, gritava-lhe alguma palavra respeitosa, se bem que bem pouco compreensível.
Salvo nestas circunstâncias, estava sempre solitário. Às vezes, um empregado errava, cansadamente, na hora da sesta, pelo circo vazio, e elevava o olhar à quase atraente altura em que o trapezista descansava ou se exercitava em sua arte, sem saber que era observado.
Assim, poderia viver tranquilo o artista do trapézio não fossem as inevitáveis viagens de lugar em lugar, que o incomodavam extraordinariamente. Certo é que o empresário cuidava de que este sofrimento não se prolongasse desnecessariamente. O trapezista saía para a estação num automóvel de corrida que voava, de madrugada, pelas ruas desertas, à máxima velocidade (mas demasiado lento a para sua saudade do trapézio).
No trem, estava reservado um camarote só para ele, onde encontrava, em cima, na pequena rede de bagagem, uma substituição mesquinha — mas de algum modo equivalente — à sua maneira de viver.
No local de destino, já se encontrava montado o trapézio muito antes de sua chegada, quando o palco não fora armado e nem as portas colocadas. Para o empresário, o momento mais prazeroso era aquele em que o trapezista apoiava o pé na corda de subida e num instante içava-se ao seu trapézio. Apesar de todas essas precauções, as viagens perturbavam gravemente os nervos do trapezista, de modo que, por mais felizes que resultassem, do ponto de vista econômico, para o empresário, sempre eram penosas ao artista.
Certa feita, quando viajavam — o artista na rede, como se sonhasse, e o empresário junto à janela, lendo um livro —, o homem do trapézio interpelou o chefe suavemente. E disse-lhe, mordendo os lábios, que, doravante, necessitava, para viver, não de um trapézio apenas, como até então, mas de dois, um de frente ao outro.
O empresário prontamente aquiesceu. Mas o trapezista, como se quisesse demonstrar que a aceitação do empresário não tinha mais importância que a recusa, acrescentou que nunca mais, em nenhuma ocasião, trabalharia sobre um só trapézio. Parecia horrorizar-se diante da ideia de fazê-lo novamente. O empresário, detendo-se e observando seu artista, declarou novamente a sua absoluta conformidade. Dois trapézios seriam melhores do que apenas um. Além disso, os novos trapézios seriam mais vantajosos, proporcionando evoluções mais variadas e vistosas.
Mas o artista pôs-se a chorar subitamente. O empresário, profundamente comovido, levantou-se de um salto e perguntou o que havia, e, como não recebeu resposta alguma, subiu à rede, afagou-o, abraçou-o e encostou o seu rosto no dele, até sentir as lágrimas em sua pele. Depois de muitas perguntas e palavras carinhosas, o trapezista exclamou, soluçando:
—Só com uma barra nas mãos! Como eu poderia viver assim?
Então, foi mais fácil ao empresário consolá-lo. Prometeu-lhe que na primeira estação, na primeira parada, no primeiro hotel telegrafaria para que instalassem o segundo trapézio, e censurou a si mesmo duramente pela crueldade de ter deixado o artista trabalhar por tanto tempo com um único trapézio. Enfim, agradeceu-lhe por ter-lhe feito notar, finalmente, aquela omissão imperdoável. De toda sorte, o empresário pôde tranquilizar o artista e voltar ao seu lugar.
O empresário, todavia, não estava tranquilo. Com grave preocupação espiava-o, às furtadelas, por cima do livro. Se semelhantes pensamentos haviam começado a atormentá-lo, poderiam cessar por completo? Não continuariam aumentando dia a dia? Não iriam ameaçar-lhe a existência? E o empresário, alarmado, julgou ver naquele sono aparentemente tranquilo, em que havia terminado o pranto, começar a desenhar-se a primeira ruga na lisa fronte infantil do artista do trapézio.
DIANTE DA LEI
Diante da Lei há um porteiro. Um camponês apresenta-se a este porteiro e pede permissão para entrar na Lei. Mas o porteiro responde que, no momento, não pode deixá-lo entrar. O homem reflete e pergunta se mais tarde estará autorizado a entrar.
—É possível — diz o porteiro —, mas não agora.
Como de costume, a porta da Lei está aberta. Quando o porteiro se põe de lado, o homem se inclina para espiar. O porteiro o vê, sorri e diz:
—Se teu desejo é tão grande assim, experimenta passar apesar de minha proibição. Mas lembra-te que sou poderoso. E sou apenas o último dos porteiros. De sala para sala há, também, porteiros, cada um mais poderoso que o outro. Já o terceiro porteiro é tão terrível que sequer posso olhar para ele.
O camponês não havia previsto estas dificuldades; a Lei deveria ser sempre a todos acessível, pensa ele. Mas, ao olhar o porteiro, com o seu casaco de peles, seu grande nariz agudo e sua barba de tártaro, rala e negra, decide que é conveniente esperar até que lhe seja dada permissão para entrar. O porteiro lhe dá um banquinho e deixa-o sentar-se ao lado da porta.
Ali ele espera dias e anos. Ele faz várias tentativas para entrar e cansa o porteiro com suas súplicas. Frequentemente, o guarda conversa brevemente com ele, pergunta-lhe sobre o seu país e sobre muitas outras coisas. Mas são perguntas indiferentes, como as dos grandes senhores e, finalmente, acaba por repetir que não pode deixá-lo entrar. O homem, que se provera de muitas coisas para a viagem, sacrifica tudo, por valioso que seja, para subornar o porteiro. Este, de fato, aceita tudo, mas lhe diz:
—Somente aceito para que creias que não omitiste nenhum esforço.
Durante esses longos anos, o homem observa quase ininterruptamente o porteiro. Esquece-se dos outros guardiães e aquele parece ser-lhe o único obstáculo que o separa da Lei. Durante os primeiros anos, audaciosamente, maldiz sua má sorte. Mais tarde, à medida que envelhece, limita-se a resmungar consigo mesmo. Retorna à infância e como, em sua cuidadosa e longa contemplação do porteiro, chegou a conhecer até mesmo as pulgas da gola do casaco de peles, suplica a elas que o ajudem a demover o guardião. Por fim, a sua visão debilita-se e ele já não sabe se realmente está mais escuro ou se os seus olhos o enganam. Mas, em meio à escuridão, vislumbra um clarão que irrompe inextinguível da porta da lei. Resta-lhe, todavia, apenas pouco tempo de vida. Antes de morrer, todas as experiências desses longos anos se confundem em sua mente em uma única pergunta, que até agora não formulara ao porteiro. Faz-lhe um aceno para que este se aproxime, já que não pode erguer o corpo enrijecido. O porteiro vê-se obrigado a agachar-se, porque a diferença de estatura entre ambos aumentou bastante com o tempo, em detrimento do camponês:
—O que ainda queres saber? — perguntou o porteiro. — Tu és mesmo insaciável.
—Todos se esforçam por chegar à Lei — disse o homem. — Como é possível, então, que, durante tantos anos, ninguém mais, senão eu, implorou para entrar?
O porteiro percebeu que o homem estava no fim e, para que aqueles fracos ouvidos captassem as suas palavras, respondeu, aos berros:
—Ninguém mais poderia ser admitido aqui porque esta porta foi feita apenas para ti. E agora eu vou fechá-la.
—É possível — diz o porteiro —, mas não agora.
Como de costume, a porta da Lei está aberta. Quando o porteiro se põe de lado, o homem se inclina para espiar. O porteiro o vê, sorri e diz:
—Se teu desejo é tão grande assim, experimenta passar apesar de minha proibição. Mas lembra-te que sou poderoso. E sou apenas o último dos porteiros. De sala para sala há, também, porteiros, cada um mais poderoso que o outro. Já o terceiro porteiro é tão terrível que sequer posso olhar para ele.
O camponês não havia previsto estas dificuldades; a Lei deveria ser sempre a todos acessível, pensa ele. Mas, ao olhar o porteiro, com o seu casaco de peles, seu grande nariz agudo e sua barba de tártaro, rala e negra, decide que é conveniente esperar até que lhe seja dada permissão para entrar. O porteiro lhe dá um banquinho e deixa-o sentar-se ao lado da porta.
Ali ele espera dias e anos. Ele faz várias tentativas para entrar e cansa o porteiro com suas súplicas. Frequentemente, o guarda conversa brevemente com ele, pergunta-lhe sobre o seu país e sobre muitas outras coisas. Mas são perguntas indiferentes, como as dos grandes senhores e, finalmente, acaba por repetir que não pode deixá-lo entrar. O homem, que se provera de muitas coisas para a viagem, sacrifica tudo, por valioso que seja, para subornar o porteiro. Este, de fato, aceita tudo, mas lhe diz:
—Somente aceito para que creias que não omitiste nenhum esforço.
Durante esses longos anos, o homem observa quase ininterruptamente o porteiro. Esquece-se dos outros guardiães e aquele parece ser-lhe o único obstáculo que o separa da Lei. Durante os primeiros anos, audaciosamente, maldiz sua má sorte. Mais tarde, à medida que envelhece, limita-se a resmungar consigo mesmo. Retorna à infância e como, em sua cuidadosa e longa contemplação do porteiro, chegou a conhecer até mesmo as pulgas da gola do casaco de peles, suplica a elas que o ajudem a demover o guardião. Por fim, a sua visão debilita-se e ele já não sabe se realmente está mais escuro ou se os seus olhos o enganam. Mas, em meio à escuridão, vislumbra um clarão que irrompe inextinguível da porta da lei. Resta-lhe, todavia, apenas pouco tempo de vida. Antes de morrer, todas as experiências desses longos anos se confundem em sua mente em uma única pergunta, que até agora não formulara ao porteiro. Faz-lhe um aceno para que este se aproxime, já que não pode erguer o corpo enrijecido. O porteiro vê-se obrigado a agachar-se, porque a diferença de estatura entre ambos aumentou bastante com o tempo, em detrimento do camponês:
—O que ainda queres saber? — perguntou o porteiro. — Tu és mesmo insaciável.
—Todos se esforçam por chegar à Lei — disse o homem. — Como é possível, então, que, durante tantos anos, ninguém mais, senão eu, implorou para entrar?
O porteiro percebeu que o homem estava no fim e, para que aqueles fracos ouvidos captassem as suas palavras, respondeu, aos berros:
—Ninguém mais poderia ser admitido aqui porque esta porta foi feita apenas para ti. E agora eu vou fechá-la.
DESISTA!
Era muito cedo de manhã, as ruas estavam limpas e vazias e eu ia à estação ferroviária. Ao confrontar o relógio de uma torre com o meu, verifiquei que era muito mais tarde do que supunha e eu teria que apressar-me muito; o choque desta descoberta faz-me ficar inseguro quanto ao caminho a seguir, pois eu ainda não conhecia bem aquela cidade. Felizmente, havia um policial nas proximidades; corri a ele e, sem fôlego, lhe perguntei qual era o caminho da estação. Ele sorriu e disse-me:
—Queres, por mim, conhecer o caminho?
—Sim, já que eu não posso encontrá-lo por mim mesmo.
—Desista, desista! — disse ele, e se virou com grande ímpeto, como as pessoas que querem ficar a sós com as suas risadas.
—Queres, por mim, conhecer o caminho?
—Sim, já que eu não posso encontrá-lo por mim mesmo.
—Desista, desista! — disse ele, e se virou com grande ímpeto, como as pessoas que querem ficar a sós com as suas risadas.
UMA PEQUENA FÁBULA
— Ah —disse o rato — o mundo se torna mais estreito a cada dia. Antes, ele ela era tão vasto que me dava medo; então eu corria, ficava feliz em finalmente vislumbrar, à distância, à direita e à esquerda, as longas paredes. Mas agora elas convergem tão rapidamente uma à outra que eu já estou no último quarto, e lá no canto está a ratoeira para qual eu corro.
— Você só tem que mudar de direção — disse o rato, e o devorou.
— Você só tem que mudar de direção — disse o rato, e o devorou.
A PONTE
Eu estava rígido e frio; eu era uma ponte atravessada sobre um precipício. Em uma das extremidades estavam as pontas dos pés; na outra, as mãos; no barro quebradiço cravei os dentes, firmando-me. As abas de meu casaco esvoaçavam às minhas costas.
Nas profundezas, rumorejava o gélido arroio de trutas. Nenhum turista desviava-se a estas alturas intransitáveis: a ponte não figurava nos mapas. Assim, eu ali permanecia, esperando. Tinha que esperar. Toda ponte, uma vez construída, não pode deixar de ser ponte sem desmoronar.
Foi num entardecer — não sei se foi o primeiro ou o milésimo, meus pensamentos, sempre confusos, giravam sempre em círculos —, foi num entardecer de verão, em que o arroio murmurava soturnamente, que escutei os passos de um homem. Para cá, para cá. Estira-te, ponte; apruma-te, viga sem corrimões; sustenta quem a ti foi confiado. Nivela imperceptivelmente a insegurança de seu passo; se ele vacila, dá-te a conhecer como um deus da montanha, põe-no em terra firme.
Ele chegou e me tateou com a ponta metálica de seu bastão; depois ergueu com ela as abas de meu casaco e as acomodou sobre mim. A ponta do bastão imiscuiu-se entre os meus cabelos emaranhados e ali permaneceu por um tempo, enquanto ele olhava, provavelmente com olhos selvagens, ao redor. Foi então — apenas sonhei-o sobre montanhas e vales — que ele saltou, caindo com ambos os pés sobre o meio do meu corpo. Uma dor selvagem me fez estremecer, ignorante do que acontecia. Quem era ele? Uma criança? Um sonho? Um salteador? Um suicida? Um tentador? Um destruidor? Virei-me para vê-lo. A ponte girava. Não havia terminado de virar-me e eu já caía, caía e estava dilacerado, empalado pelos seixos pontiagudos que sempre haviam olhado para mim tão pacificamente através das águas turbulentas.
Nas profundezas, rumorejava o gélido arroio de trutas. Nenhum turista desviava-se a estas alturas intransitáveis: a ponte não figurava nos mapas. Assim, eu ali permanecia, esperando. Tinha que esperar. Toda ponte, uma vez construída, não pode deixar de ser ponte sem desmoronar.
Foi num entardecer — não sei se foi o primeiro ou o milésimo, meus pensamentos, sempre confusos, giravam sempre em círculos —, foi num entardecer de verão, em que o arroio murmurava soturnamente, que escutei os passos de um homem. Para cá, para cá. Estira-te, ponte; apruma-te, viga sem corrimões; sustenta quem a ti foi confiado. Nivela imperceptivelmente a insegurança de seu passo; se ele vacila, dá-te a conhecer como um deus da montanha, põe-no em terra firme.
Ele chegou e me tateou com a ponta metálica de seu bastão; depois ergueu com ela as abas de meu casaco e as acomodou sobre mim. A ponta do bastão imiscuiu-se entre os meus cabelos emaranhados e ali permaneceu por um tempo, enquanto ele olhava, provavelmente com olhos selvagens, ao redor. Foi então — apenas sonhei-o sobre montanhas e vales — que ele saltou, caindo com ambos os pés sobre o meio do meu corpo. Uma dor selvagem me fez estremecer, ignorante do que acontecia. Quem era ele? Uma criança? Um sonho? Um salteador? Um suicida? Um tentador? Um destruidor? Virei-me para vê-lo. A ponte girava. Não havia terminado de virar-me e eu já caía, caía e estava dilacerado, empalado pelos seixos pontiagudos que sempre haviam olhado para mim tão pacificamente através das águas turbulentas.
Franz Kafka
O melhor da literatura para todos os gostos e idades



















