



Biblio VT




"O rei ordenou ao vizir que lhe levasse, todas as noites, uma virgem; passada a noite mandava matá-la. Assim aconteceu durante três anos e na cidade já não havia donzela que pudesse servir para os assaltos daquele cavalgador. Mas o vizir tinha uma filha de grande formosura chamada Xehrazade... tão eloquente que dava gosto ouvi-la."
(As Mil e Uma Noites)
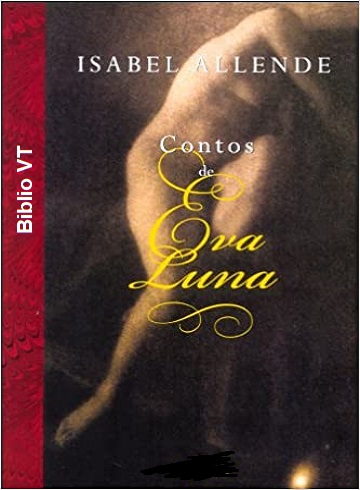
1 - Conta-me um conto
Tiravas a fita da cintura, largavas as sandálias, deitavas para o canto a tua grande saia, de algodão, parece-me, e soltavas o nó que te apanhava o cabelo num rabo de cavalo. Tinhas a pele arrepiada e rias. Estávamos tão próximos que nos podíamos ver, ambos absortos nesse ritual urgente, envoltos no calor e no cheiro que, de nós, se desprendia. Eu abria passagem pelos teus caminhos, as minhas mãos na tua cintura levantada e as tuas impacientes. Deslizavas, percorrias-me, trepavas por mim, envolvias-me com as tuas pernas invencíveis, dizias-me mil vezes vem com os lábios nos meus. No momento final tínhamos um vislumbre de completa solidão, cada um perdido no seu abismo ardente, mas logo ressuscitávamos do outro lado do fogo para nos descobrirmos abraçados na desordem das almofadas, debaixo do mosquiteiro branco. Afastava-te o cabelo para te olhar nos olhos. às vezes sentavas-te a meu lado, de pernas encolhidas e o teu xaile de seda sobre um ombro, no silêncio da noite que mal começava. Assim te recordo, calmamente.
Pensas em palavras, para ti a linguagem é um fio inesgotável que teces como se a vida se fizesse ao contá-la. Eu penso em imagens congeladas numa fotografia, no entanto, esta não está impressa numa placa, parece desenhada à pena, é uma recordação minuciosa e perfeita, de volumes suaves e cores quentes, renascentista, como uma intenção captada sobre um papel granulado ou uma tela. É um momento profético, é toda a nossa existência, tudo o que foi vivido e está por viver, todas as épocas simultâneas, sem princípio nem fim. A certa distância olho esse desenho, onde também estou. Sou espectador e protagonista. Estou na penumbra, velado pela bruma de um cortinado translúcido. Sei que sou eu, mas sou também o que observa de fora. Conheço o que sente o homem pintado sobre a cama revolta, num quarto de vigas escuras e tectos de catedral, onde a cena aparece como um fragmento de uma cerimônia antiga. Estou ali contigo e também aqui, sozinho, noutro tempo da consciência. No quadro o casal descansa depois de fazer amor, a pele de ambos brilha úmida. o homem tem os olhos fechados, uma mão no peito e outra na coxa dela, em íntima cumplicidade. Para mim esta visão é recorrente e imutável, nada se altera, sempre o mesmo sorriso plácido do homem, a mesma languidez da mulher, as mesmas pregas dos lençóis e cantos sombrios do quarto, sempre a luz da lâmpada a iluminar os seios e as faces dela do mesmo ângulo, e o xaile de seda e os cabelos escuros a cair com igual delicadeza.
Cada vez que penso em ti, vejo-te assim, assim nos vejo, detidos para sempre nessa tela, invulneráveis ao estrago da má memória. Posso recriar longamente essa cena, até sentir que entro no espaço do quadro e já não sou o que observa, mas o homem que jaz junto a essa mulher.
Então rompe-se a quietude simétrica de pintura e escuto as nossas vozes muito perto.
- Conta-me um conto - digo-te, - Como queres que ele seja? - Conta-me um conto que nunca contasses a ninguém.
2 - Duas palavras
Tinha o nome de Belisa Crepusculario, não por fé de batismo ou escolha de sua mãe, mas porque ela própria o procurou até o encontrar e com ele se ataviou. Percorria o país, desde as regiões mais altas e frias até às costas quentes, instalando-se nas feiras e nos mercados, onde montava quatro paus com um toldo de linho, debaixo do qual se protegia do sol e da chuva para atender a clientela. Não precisava de apregoar a mercadoria, porque de tanto caminhar por aqui e por ali todos a conheciam. Havia os que a aguardavam de um ano para o outro e quando aparecia na aldeia com a trouxa debaixo do braço faziam bicha em frente da sua barraca. Vendia a preços justos. Por cinco centavos entregava versos de memória, por sete melhorava a qualidade dos sonhos, por nove escrevia cartas de namorados, por doze inventava insultos para inimigos irreconciliáveis. Também vendia contos, mas não eram contos de fantasia, mas longas histórias verdadeiras que recitava de enfiada sem saltar nada. Assim levava as notícias de uma aldeia para outra. As pessoas pagavam-lhe por juntar uma ou duas linhas: nasceu um menino, morreu fulano, casaram-se os nossos filhos, queimaram-se as colheitas. Em cada lugar juntava-se uma pequena multidão à sua volta para a ouvir quando começava a falar e assim se inteiravam das vidas dos outros, dos parentes que viviam longe, dos pormenores da guerra civil. A quem lhe comprasse cinquenta centavos, dava de presente uma palavra secreta para afugentar a melancolia. Não era a mesma para todos, certamente, porque isso teria sido um engano colectivo. Cada um recebia a sua com a certeza de que ninguém mais a empregava para esse fim no universo inteiro e para lá dele.
Belisa Crepusculario nascera numa família tão miserável, que nem sequer possuía nomes para chamar aos filhos. Veio ao mundo e cresceu na região mais inóspita, onde alguns anos as chuvas se transformam em avalanchas de água que arrastam tudo e noutros não cai nem uma gota do céu, o sol aumenta até ocupar o horizonte por inteiro e o mundo torna-se um deserto. Até completar onze anos não teve outra ocupação nem virtude senão sobreviver à fome e à fadiga dos séculos. Durante uma seca interminável coube-lhe enterrar quatro irmãos mais pequenos e, quando compreendeu que chegava a sua vez, decidiu começar a andar pelas planícies em direção ao mar, a ver se, na viagem, conseguia enganar a morte. A terra estava escalvada, partida em gretas profundas, semeada de pedras, fósseis de árvores e de arbustos espinhosos, esqueletos de animais, esbranquecidos pelo calor. De vez em quando deparava com famílias que, como ela, iam até ao Sul seguindo a miragem da água. Alguns tinham iniciado a caminhada levando os seus haveres ao ombro ou em carrinhos de mão, mas mal podiam mover os próprios ossos e ao fim de pouco caminhar acabavam por abandonar as suas coisas.
Arrastavam-se penosamente, com a pele feita couro de lagarto e os olhos queimados pela reverberação da luz. Belisa saudava-os com um gesto ao passar, mas não parava, porque não podia gastar as suas forças em exercícios de compaixão. Muitos caíram pelo caminho, mas ela era tão teimosa que conseguiu atravessar o inferno e, por fim, chegar aos primeiros mananciais, finos fios de água, quase invisíveis, que alimentavam uma vegetação raquítica e que mais adiante se transformavam em riachos e pântanos.
Belisa Crepusculario salvou a vida e, além disso, descobriu a escrita por acaso. Ao chegar a uma aldeia nas proximidades da costa, o vento pôs-lhe aos pés a folha de um jornal. Pegou naquele papel amarelo e quebradiço, esteve longo tempo a observá-lo sem adivinhar o seu uso, até que a curiosidade pôde mais que a timidez. Aproximou-se de um homem que lavava um cavalo no mesmo charco turvo onde ela saciara a sede.
- Que é isto? - perguntou.
- A página desportiva de um jornal - respondeu o homem sem dar mostras de espanto pela sua ignorância.
A resposta deixou a rapariga atônita mas não quis parecer atrevida, limitou-se a perguntar o significado das patinhas de mosca desenhadas sobre o papel.
- São palavras, menina. Aí diz-se que Fulgencio Barba derrubou o negro Tiznão ao terceiro assalto.
Nesse dia Belisa Crepusculario soube que as palavras andam soltas, sem dono, e que qualquer um com um pouco de manha pode agarrá-las para as vender. Considerou a sua situação e concluiu que para além de se prostituir ou empregar-se como criada nas cozinhas dos ricos, poucas eram as ocupações que podia desempenhar. Vender palavras pareceu-lhe uma alternativa decente. A partir desse momento exerceu tal profissão e nunca se interessou por outra. A princípio oferecia a sua mercadoria sem suspeitar que as palavras podiam também escrever-se fora dos jornais. Quando soube isso calculou as infinitas perspectivas do negócio, com as suas poupanças pagou vinte pesos a um padre para lhe ensinar a ler e escrever e com os três que lhe sobraram comprou um dicionário.
Leu-o de A a Z e depois atirou-o ao mar porque não era sua intenção cansar os clientes com palavras enlatadas.
Vários anos depois, numa manhã de Agosto, estava Belisa Crepusculario no meio de uma praça, sentada debaixo do toldo a vender argumentos de justiça a um velho que solicitava a sua pensão há dezassete anos. Era dia de mercado e havia muito bulício à sua volta. Ouviram-se golpes e gritos, ela levantou os olhos da escrita e viu primeiro uma nuvem de pó e, em seguida, um grupo de cavalos que dela saiu. Tratava-se dos homens do Coronel, comandados pelo Mulato, um gigante conhecido em toda a região pela rapidez da sua faca e pela lealdade para com o chefe. Ambos, o Coronel e o Mulato, tinham passado a vida ocupados na guerra civil e os seus homens estavam irremediavelmente unidos ao maleiricio e à calamidade.
Os guerreiros entraram na aldeia comum rebanho em fuga, envoltos em ruído, banhados de suor e deixando atrás de si os destroços de um furacão. As galinhas desapareceram a voar, os cães largaram a correr, as mulheres abalaram com os filhos e não ficou no local do mercado vivalma a não ser Belisa Crepusculario, que nunca tinha visto o Mulato e que por isso mesmo estranhou que ele se lhe dirigisse.
- Procuro-te a ti - gritou, apontando-a com o chicote enrolado e, antes que acabasse de dizer isto, dois homens caíram em cima da mulher atropelando o toldo e partindo o tinteiro, amarraram-lhe os pés e as mãos e puseram-na atravessada como um fardo de marinheiro sobre a garupa do cavalo do Mulato. Depois começaram a galopar em direção às colinas.
Horas mais tarde, quando Belisa Crepusculario estava quase a morrer com o coração transformado em areia pelas sacudidelas do cavalo, sentiu que paravam e que quatro mãos poderosas a punham em terra.
Tentou pôr-se de pé e levantar a cabeça com dignidade, mas faltaram-lhe as forças e caiu com um suspiro, afundando-se num sono pesado. Despertou várias horas depois com o murmúrio da noite no campo, mas não teve tempo de decifrar esses ruídos porque ao abrir os olhos viu na sua frente o olhar impaciente do Mulato, ajoelhado a seu lado.
- Finalmente acordas, mulher - disse, estendendo-lhe o cantil para que bebesse um gole de aguardente com pólvora e acabasse de recuperar a vida.
Ela quis saber a causa de tantos maltratos e ele explicou-lhe que o Coronel necessitava dos seus serviços. Deixou-a molhar a cara e depois levou-a até a um dos extremos do acampamento, onde o homem mais temido do país repousava numa rede pendurada entre duas árvores. Ela não conseguiu ver-lhe o rosto, porque ele tinha em cima a sombra incerta da folhagem e a sombra indelével de muitos anos a viver como um bandido, mas imaginou que devia ter uma expressão viciosa uma vez que o seu gigantesco ajudante se dirigia a ele com tanta humildade. Surpreendeu-a a voz dele, suave e bem modulada como a de um professor.
- És tu a que vende palavras? - perguntou.
- Ao teu serviço - balbuciou ela, procurando na penumbra para o ver melhor.
O Coronel pôs-se de pé e a luz da tocha que o Mulato levava iluminou-lhe a cara. A mulher viu a sua pele escura e os seus ferozes olhos de puma e percebeu logo que estava em frente do homem mais solitário deste mundo.
- Quero ser presidente - disse ele.
Estava cansado de percorrer aquela terra maldita em guerras inúteis e derrotas que nenhum subterfúgio podia transformar em vitórias. Passara muitos anos a dormir à intempérie, picado por mosquitos, alimentando-se de iguanas e sopa de cobra, mas esses inconvenientes menores não eram razão suficiente para lhe mudar o destino. o que em verdade o enfadava era o terror nos olhos dos outros. Desejava entrar nas aldeias debaixo de arcos de triunfo, entre bandeiras de cores e flores, que o aplaudissem e lhe dessem de presente ovos frescos e pão acabado de sair do forno. Estava farto de ver como os homens fugiam à sua passagem, as mulheres abortavam de susto e tremiam as crianças, por isso decidira ser presidente. O Mulato sugeriu-lhe que fossem à capital e entrarem a galope no palácio para se apoderarem do governo, como tomaram tantas outras coisas sem pedir autorização, mas ao Coronel não interessava tornar-se noutro tirano, desses já tinha havido bastantes por ali e, além disso, dessa maneira não conseguiria o afeto das pessoas. A sua ideia consistia em ser eleito por votação popular nos comícios de Dezembro.
- Para isso tenho de falar como um candidato. Podes vender-me as palavras para um discurso? - perguntou o Coronel a Belisa Crepusculario.
Ela já tinha aceitado muitas encomendas, mas nenhuma como essa, no entanto não pôde negar-se, receando que o Mulato lhe enfiasse um tiro entre os olhos ou, pior ainda, que o Coronel desatasse a chorar. Por outro lado, teve vontade de o ajudar, porque sentiu uma palpitação quente na sua pele, um desejo poderoso de tocar naquele homem, de percorrê-lo com as mãos, de apertá-lo entre os seus braços.
Toda a noite e boa parte do dia seguinte esteve Belisa Crepusculario à procura no seu repertório das palavras apropriadas para um discurso presidencial, vigiada de perto pelo Mulato, que não tirava os olhos das suas firmes pernas de caminhante e dos seus seios virginais. Retirou as palavras ásperas e secas, as demasiado floridas, as que estavam descoloridas pelo abuso, as que ofereciam promessas improváveis, as que careciam de verdade e as confusas, para ficar apenas com aquelas capazes de tocar com certeza o pensamento dos homens e a intuição das mulheres. Fazendo uso dos conhecimentos comprados ao padre por vinte pesos, escreveu o discurso numa folha de papel e fez logo sinais ao Mulato para desatar a corda com a qual a tinha amarrado pelas canelas a uma árvore. Levaram-na novamente ao Coronel e ao vê-lo tornou a sentir a mesma ansiedade palpitante do primeiro encontro. Deu-lhe o papel e esperou, enquanto ele a olhava segurando-o com a ponta dos dedos.
- Que porra diz isto aqui? - perguntou por fim.
- Não sabes ler?
- O que sei fazer é a guerra - respondeu ele.
Ela leu em voz alta o discurso. Leu-o três vezes, para que o seu cliente pudesse gravá-lo na memória. Quando terminou viu a emoção no rosto dos homens da tropa que se haviam juntado para a escutar e notou que os olhos amarelos do Coronel brilhavam de entusiasmo, certo de que com essas palavras a cadeira presidencial seria sua.
- Se, depois de ouvirem três vezes, os rapazes continuam de boca aberta, é porque esta droga serve, Coronel - aprovou o Mulato.
- Quanto te devo pelo teu trabalho, mulher? - perguntou o chefe.
- Um peso, Coronel.
- Não é caro - disse ele, abrindo a bolsa que trazia pendurada do cinturão com os restos do último saque.
- Além disso, tens direito a uma prenda. Correspondem-te duas palavras secretas - disse Belisa Crepusculario.
- Como é isso?
Ela começou a explicar-lhe que por cada cinquenta centavos que um cliente pagava, oferecia-lhe uma palavra de uso exclusivo. O chefe encolheu os ombros, porque não tinha o menor interesse na oferta, mas não quis ser indelicado com quem o servira tão bem. Ela aproximou-se devagar do tamborete de cabedal onde ele estava sentado e inclinou-se para lhe dar a sua prenda. Então o homem sentiu o cheiro de animal montês que saía daquela mulher, o calor de incêndio irradiado pelas ancas, o roçar terrível dos seus cabelos, o perfume de hortelã-pimenta sussurrando-lhe ao ouvido as duas palavras secretas a que tinha direito.
- São tuas, Coronel - disse -, ao retirar-se. - Podes usá-las como quiseres.
O Mulato acompanhou Belisa até à beira do caminho, sem deixar de a olhar com olhos suplicantes de cão perdido, mas quando estendeu a mão para lhe tocar, ela deteve-o com um chorrilho de palavras inventadas que tiveram a virtude de lhe espantar o desejo, porque julgou tratar-se de alguma maldição irrevogável.
Nos meses de Setembro, Outubro e Novembro o Coronel pronunciou o seu discurso tantas vezes, que se não fosse feito com palavras refulgentes e duradoiras o uso tê-lo-ia, transformado em cinza. Correu o país em todas as direções, entrando nas cidades com ar triunfal e detendo-se também nas aldeias mais esquecidas, lá onde só o rasto do lixo indicava a presença humana, para convencer os eleitores a votarem nele.
Enquanto falava em cima de um estrado no centro da praça, o Mulato e os seus homens distribuíam caramelos e pintavam o seu nome com tinta dourada nas paredes, mas ninguém prestava atenção a esses recursos de mercador, porque estavam deslumbrados pela claridade das suas propostas e pela lucidez poética dos seus argumentos, contagiados pelo seu desejo tremendo de corrigir os erros da história e alegres pela primeira vez na sua vida. Ao terminar a arenga do candidato, a tropa dava tiros de pistola para o ar e acendia petardos e, quando por fim se retiravam, ficava atrás um rasto de esperança que permanecia muitos dias no ar, como a recordação magnífica de um cometa. Imediatamente o Coronel se tornou o político mais popular. Era um fenômeno nunca visto, aquele homem surgido da guerra civil, cheio de cicatrizes, falando como um catedrático, cujo prestígio se espalhava pelo território nacional comovendo o coração da pátria. A imprensa ocupava-se dele. Os jornalistas viajaram de longe para o entrevistar e repetir as suas frases, e assim cresceu o número dos seus seguidores e inimigos.
- Estamos a ir bem, Coronel! - disse o Mulato ao completarem-se doze semanas de êxito.
Mas o candidato não o ouviu. Estava a repetir as suas duas palavras secretas, como fazia, cada vez com mais frequência.
Dizia-as quando abrandava a nostalgia, murmurava-as adormecido, levava-as consigo no cavalo, pensava-as antes de pronunciar o seu célebre discurso e surpreendia-se a saboreá-las nos momentos descuidados.
E em todas as ocasiões em que essas duas palavras lhe vinham à mente evocava a presença de Belisa Crepusculario e excitavam-se-lhe os sentidos com a recordação do cheiro montês, o calor de incêndio, o roçar terrível e o perfume de hortelã-pimenta, até que começou a andar como um sonâmbulo e os seus homens compreenderam que se lhe tinha acabado a vida antes de alcançar a cadeira dos presidentes.
- Que se passa contigo, Coronel? - perguntava-lhe muitas vezes o Mulato, até que por fim, um dia, o chefe não aguentou mais e confessou-lhe que a razão do seu ânimo eram as duas palavras que trazia cravadas no ventre.
- Diz-mas, para ver se perdem o seu poder - pediu-lhe o fiel ajudante.
- Não tas direi, são só minhas - replicou o Coronel.
Cansado de ver o chefe a definhar como um condenado à morte, o Mulato pôs a espingarda ao ombro e partiu à procura de Belisa Crepusculario. Seguiu as suas pegadas por toda a vasta geografia até a encontrar numa aldeia do Sul, instalada debaixo do toldo do seu ofício, contando o rosário de notícias. Ficou à sua frente com as pernas abertas, empunhando a arma.
- Vem comigo - ordenou.
Ela estava à sua espera. Guardou o tinteiro, dobrou o pano da barraca, pôs o xaile pelos ombros e, em silêncio, trepou para a garupa do cavalo. Não trocaram nem um gesto em todo o caminho, porque o desejo que o Mulato sentia por ela se tornara raiva e só o medo que a sua língua lhe inspirava o impedia de a desfazer à chicotada, nem estava disposto a dizer que o Coronel andava aparvalhado, e que aquilo que tantos anos de batalha não haviam logrado, conseguiu-o um encantamento sussurrado ao ouvido. Três dias depois, chegado ao acampamento, levou de imediato a sua prisioneira até ao candidato, diante de toda a tropa.
- Coronel, trouxe-te esta bruxa para que lhe devolvas as suas palavras e para que ela te devolva a hombridade - disse, apontando o cano da espingarda à nuca da mulher.
O Coronel e Belisa Crepusculario olharam-se longamente, medindo-se à distância. Os homens compreenderam então que o seu chefe já não podia desfazer-se do feitiço das suas palavras endemoninhadas, porque todos puderam ver os olhos carnívoros do puma tornarem-se mansos quando ele avançou e lhe pegou na mão.
3 - Menina perversa
Aos onze anos Elena Mejias era ainda uma gaiata enfezada, com a pele sem brilho dos meninos solitários, a boca com os buracos de dentição tardia, o cabelo cor de rato e um esqueleto visível que parecia demasiado contundente para o seu tamanho e que ameaçava sair-lhe pelos joelhos e cotovelos.
Nada no seu aspecto revelava os sonhos tórridos nem anunciava a criança apaixonada que, na verdade, era. Passava desapercebida entre os móveis ordinários e cortinados desbotados da pensão da mãe. Era apenas uma gata melancólica brincando por entre os gerânios empoeirados e os grandes fetos do pátio ou andando entre o fogão da cozinha e as mesas da sala com os pratos do jantar. Raras vezes algum cliente reparava nela e se o fazia era apenas para lhe mandar pulverizar com insecticida os ninhos de baratas ou para lhe encher a banheira, quando a ruidosa geringonça da bomba se negava a fazer subir a água até ao segundo piso. A mãe, derreada pelo calor e pelo trabalho da casa, não tinha vontade de ternuras nem tempo para olhar para a filha, de maneira que não se apercebeu quando Elena começou a transformar-se num ser diferente. Durante os primeiros anos da sua vida tinha sido uma menina silenciosa e tímida, entretida sempre com jogos misteriosos em que falava sozinha pelos cantos e chupava no dedo. As suas saídas eram só para a escola ou o mercado, não parecia interessada no rebanho barulhento de meninos da sua idade que brincavam na rua.
A transformação de Elena Mejías coincidiu com a chegada de Juan José Bernal, o Rouxinol, como ele próprio se havia alcunhado e como dizia um cartaz que pregou na parede do quarto. Os pensionistas eram na maioria estudantes e empregados de alguma obscura dependência da administração pública. Senhoras e cavaleiros de ordem, como dizia a mãe, que se gabava de não aceitar qualquer um debaixo do seu tecto, apenas pessoas de mérito, com uma ocupação conhecida, bons costumes, a solvência suficiente para pagar o mês adiantado e disposição para aceitar as regras da pensão, mais parecidas com as de um seminário de padres do que com as de um hotel.
Uma viúva tem de cuidar da reputação e fazer-se respeitar, não quero que o meu negócio se torne colo de vagabundos e pervertidos, repetia frequentemente a mãe, para que ninguém, e muito menos Elena, pudesse esquecê-lo. Uma das tarefas da menina era vigiar os hóspedes e manter a mãe informada sobre qualquer pormenor suspeito. Esses trabalhos de espia tinham acentuado a situação incorpórea da rapariga, que desaparecia pela sombra dos quartos, existia em silêncio e aparecia de súbito, como se acabasse de voltar de uma dimensão invisível.
Mãe e filha trabalhavam juntas nas múltiplas ocupações da pensão, cada uma mergulhada na sua calada rotina sem necessidade de comunicar entre si. Na realidade falavam pouco uma com a outra e, quando o faziam, o bocadinho livre à hora da sesta, era sobre os clientes. às vezes Elena tentava enfeitar a vida cinzenta desses homens e mulheres transitórios, que passavam pela casa sem deixar recordações, atribuindo-lhes algum acontecimento extraordinário, pintando-os de cores com a oferta de algum amor clandestino ou alguma tragédia, mas a mãe tinha um instinto aguçado para detectar as suas fantasias. Do mesmo modo descobria se a filha lhe escondia alguma informação. Tinha um implacável sentido prático e uma noção muito clara de tudo quanto se passava debaixo do seu tecto, sabia com exatidão o que este ou aquele fazia a cada hora do dia ou da noite, quanto açúcar havia na despensa, para quem tocava o telefone ou onde tinham ficado as tesouras. Fora uma mulher alegre e até bonita, os seus vestidos rudes apenas escondiam a impaciência de um corpo ainda jovem, mas ocupava-se de pormenores mesquinhos há tantos anos que se lhe tinham secado a frescura de espírito e gosto pela vida. No entanto, quando chegou Juan José Bernal a pedir para alugar um quarto, tudo mudou para ela e também para Elena. A mãe, seduzida pela modulação pretensiosa do Rouxinol e pela sugestão de celebridade exposta no cartaz, contradisse as suas próprias regras e aceitou-o na pensão, apesar dele em nada condizer com a sua imagem de cliente ideal. Bernal disse que cantava de noite e que, portanto, tinha de descansar durante o dia, que não tinha ocupação de momento, por isso não podia pagar o mês adiantado, e que era muito escrupuloso com os seus hábitos de alimentação e higiene, era vegetariano e necessitava de dois duches diários.
Surpreendida, Elena viu a mãe registar sem comentários o novo hóspede no livro e conduzi-lo até ao quarto, arrastando com dificuldade a pesada mala, enquanto ele levava o estojo com a guitarra e o tubo de cartão onde guardava como um tesouro o cartaz. Dissimulando-se contra a parede, a menina seguiu-os escada acima e notou a expressão intensa do novo hóspede ao ver o avental de algodão colado às nádegas da mãe, úmidas de suor. Ao entrar no quarto, Elena ligou o interruptor e as grandes pás do ventilador do tecto começaram a girar com um silvo de ferros oxidados.
Desde esse instante as rotinas da casa mudaram. Havia mais trabalho, porque Bernal dormia à hora em que os outros tinham saído para o trabalho, ocupava o banheiro durante horas, consumia uma quantidade assombrosa de carne de coelho que devia cozinhar-se em separado, usava o telefone a cada instante, ligava a prancha para passar as camisas de gala, sem que a dona da pensão lhe exigisse pagamento extraordinário. Elena voltava da escola com o sol da sesta, quando o dia se desfazia sob uma temível luz branca, mas a essa hora ele ainda estava no primeiro sono. Por ordem da mãe, tirava os sapatos para não violar o repouso artificial de que parecia suspensa a casa. A menina notou que a mãe mudava dia a dia. Os sinais foram perceptíveis para ela desde o princípio, muito antes de os demais habitantes da pensão começarem a cochichar nas suas costas. Primeiro foi o cheiro, um aroma persistente de flores, que emanava da mulher e ficava flutuando no ambiente dos quartos por onde ela passava. Elena conhecia cada canto da casa e o seu longo hábito de espionagem permitiu-lhe descobrir o frasco do perfume atrás dos pacotes de arroz e dos potes de conservas na despensa. Notou logo a linha de lápis escuro nas pálpebras, o toque de vermelho nos lábios, a roupa interior nova, o sorriso imediato quando Bernal descia, finalmente, ao entardecer, acabado de tomar banho, com o cabelo ainda úmido, e se sentava na cozinha a devorar os seus estranhos guisados de faquir. A mãe sentava-se em frente e ele contava-lhe episódios da sua vida de artista, celebrando cada uma das suas próprias travessuras com um riso forte que lhe nascia do ventre.
Nas primeiras semanas Elena sentiu ódio por aquele homem que ocupava todo o espaço da casa e a atenção da mãe. Tinha nojo do seu cabelo empastado de brilhantina, das suas unhas envernizadas, a mania de escarafunchar os dentes com um palito, a sua pedantice, o descaramento para se fazer servir. Perguntava a si própria, que diabo via nele sua mãe, se era apenas um aventureiro de pouca monta, um cantor de bares miseráveis de quem ninguém ouvira falar, um rufia talvez, como tinha sugerido em sussurros a menina Sofia, uma das pensionistas mais antigas. Mas, numa tarde quente de domingo, quando não havia nada para fazer e as horas pareciam paradas entre as paredes da casa, Juan José Bernal apareceu no pátio com a guitarra, sentou-se num banco debaixo da figueira e começou a dedilhar as cordas. O som atraiu todos os hóspedes, que foram assomando um a um, primeiro com certa timidez, sem compreender muito bem a causa de tanto barulho, mas que logo puxaram as cadeiras da sala de jantar para se instalarem à volta do Rouxinol. O homem tinha uma voz vulgar, mas entoava bem e cantava com graça. Conhecia todos os velhos boleros e as rancheiras do repertório mexicano e algumas canções de guerrilha semeadas de palavrões e blasfêmias, que fizeram corar as mulheres. Pela primeira vez, desde que a menina se recordava, houve um ambiente de festa na pensão. Quando escureceu acenderam dois candeeiros de petróleo pendurados nas árvores, trouxeram cervejas e a garrafa de rum reservada para curar constipações. Elena serviu os copos a tremer, ouvia as palavras de despeito por aquelas canções e os lamentos da guitarra em cada fibra do corpo, como se fosse febre. Sua mãe acompanhava o ritmo com o pé. De repente, levantou-se, pegou-lhe na mão e começaram a dançar as duas, logo seguidas pelos outros, incluindo a menina Sofia, toda ela gestos afetados e risinhos nervosos. Durante bastante tempo Elena moveu-se, seguindo a cadência da voz de Bernal, apertada contra o corpo da mãe, aspirando o seu novo perfume a flores, completamente feliz. Mas, no entanto, notou que ela a afastava com suavidade, separando-a para continuar sozinha. De olhos fechados e a cabeça atirada para trás, a mulher ondulava como um lenço a secar ao vento. Elena afastou-se e, a pouco e pouco, também os outros voltam para as cadeiras, deixando a dona da pensão sozinha no centro do pátio, perdida na sua dança.
Desde essa noite Elena viu Bernal com outros olhos. Esqueceu que detestava a sua brilhantina, os palitos e a sua arrogância, e quando o via passar ou o ouvia falar lembrava-se das canções daquela festa improvisada e tornava a sentir o ardor na pele e a confusão na alma, uma febre que não sabia pôr em palavras. Observava-o de longe, à socapa, e assim foi descobrindo aquilo que antes não soubera perceber, os seus ombros, o seu pescoço largo e forte, a curva sensual dos seus lábios grossos, os dentes perfeitos, a elegância das mãos, grandes e finas. Entrou nela um desejo insuportável de se aproximar dele, para enfiar a cara no seu peito moreno, escutar a vibração do ar nos seus pulmões e o ruído do seu coração, aspirando-lhe o cheiro, um cheiro que ela sabia ser seco e penetrante como de couro curtido ou de tabaco. Imaginava-se a brincar com o seu cabelo, apalpando-lhe os músculos das costas e das pernas, descobrindo a forma dos seus pés, transformada em fumo para lhe entrar pela garganta e enchê-lo todo. Mas se o homem levantava o olhar e encontrava o seu, Elena corria a esconder-se no matagal mais afastado do pátio, toda a tremer. Bernal tinha-se apoderado de todos os seus pensamentos, a menina já não podia suportar a imobilidade do tempo longe dele. Na escola movia-se como num pesadelo, cega e surda a tudo menos às imagens interiores, onde o via só a ele. Que estaria a fazer naquele momento? Talvez dormisse de bruços sobre a cama com as persianas fechadas, o quarto na penumbra, o ar quente agitado pelas pás do ventilador, um rio de suor ao longo da espinha, a cara enfiada na almofada. Ao primeiro toque da campainha para a saída corria logo para casa, rezando para que ele não tivesse acordado ainda e ela tivesse tempo de tomar banho e pôr um vestido limpo e ficar sentada à espera dele na cozinha, fingindo fazer as suas tarefas para que a mãe não a aborrecesse com trabalhos domésticos. E depois, quando o ouvia sair do banho a assobiar, agonizava de impaciência e medo, certa de que morreria de prazer se ele lhe tocasse ou lhe falasse, ansiosa de que isso acontecesse, mas ao mesmo tempo pronta para desaparecer por entre os móveis, porque não podia viver sem ele, nem tão-pouco podia resistir à sua presença ardente. Seguia-o dissimuladamente para todo o lado, servia-o em cada pormenor, adivinhava os seus desejos para lhe oferecer o que necessitava antes de ele lho pedir, mas movia-se sempre como uma sombra, para não revelar a sua existência.
Pela noite fora Elena não conseguia dormir, por ele não estar em casa. Abandonava a rede e saía como um fantasma a vaguear pelo primeiro piso, ganhando coragem para, finalmente, entrar em segredo no quarto de Bernal. Fechava a porta atrás de si, abria um pouco a persiana, para entrar por ela o reflexo da rua a iluminar as cerimônias que inventara para se apoderar dos pedaços da alma daquele homem, que impregnavam os seus objetos. Na lua do espelho, negro e brilhante como um charco de lodo, olhava-se longamente porque ele se tinha olhado ali, e os vestígios das duas imagens podiam confundir-se num abraço. Aproximava-se do cristal com os olhos muito abertos, vendo-se a si própria com os olhos dele, beijando os seus próprios lábios com um beijo frio e duro, que ela imaginava quente, como a boca de um homem. Sentia a superfície do espelho contra o peito e eriçavam-se-lhe as pequenas cerejas dos seios, provocando-lhe uma dor surda que a percorria de alto a baixo e se instalava num ponto preciso entre as pernas. Procurava essa dor uma e outra vez. Do armário tirava uma camisa e as botas de Bernal e calçava-as. Dava alguns passos pelo quarto com muito cuidado, para não fazer ruído. Assim, vestida, remexia nas suas gavetas, penteava-se com o seu pente, chupava a sua escova de dentes, lambia o seu creme de barbear, acariciava a sua roupa suja. Depois, sem saber porque o fazia, tirava a camisa, as botas e a sua camisa de noite e estendia-se na cama de Bernal, aspirando com sofreguidão o seu cheiro, invocando o seu calor para se envolver nele. Tocava todo o corpo, começando pela forma estranha do seu crânio, as cartilagens translúcidas das orelhas, as conchas dos olhos, a cavidade da boca, e assim até abaixo desenhando os ossos, as pregas, os ângulos e as curvas daquela totalidade insignificante que era ela mesma, desejando ser enorme, pesada e densa como uma baleia. Imaginava que se ia enchendo de um líquido viscoso e doce como mel, que inchava e crescia até ao tamanho de uma boneca descomunal, até encher toda a cama, todo o quarto, toda a casa com o seu corpo túmido. Extenuada, às vezes adormecia por uns minutos a chorar.
Uma manhã de sábado, da janela, Elena viu Bernal aproximar-se da mãe por detrás, quando ela estava inclinada no tanque a esfregar a roupa. O homem pôs-lhe a mão na cintura, a mulher não se moveu, como se o peso daquela mão fizesse parte do seu corpo. à distância, Elena percebeu o gesto de posse dele, a atitude de entrega da mãe, a intimidade dos dois, a corrente que os unia com um imenso segredo. A rapariga sentiu uma onda de suor encharcá-la de alto a baixo, não podia respirar, o seu coração era um pássaro assustado entre as costelas, sentia picadas nas mãos e nos pés, o sangue empurrando a estoirar-lhe os dedos. Desde esse dia, passou a espiar a mãe.
Foi descobrindo as evidências procuradas, uma a uma, a princípio só olhares, um adeus demasiado prolongado, um sorriso cúmplice, a suspeita de que por debaixo da mesa as pernas deles se encontravam e que inventavam pretextos para ficar a sós. Por fim, numa noite, ao regressar do quarto de Bernal onde havia cumprido os rituais de apaixonada, escutou um rumor de águas subterrâneas vindo do quarto da mãe, compreendeu então que durante todo aquele tempo, enquanto ela julgava que Bernal estava a ganhar o sustento com canções noturnas, o homem tinha estado no outro lado do corredor, e enquanto ela beijava a sua recordação no espelho e aspirava o vestígio da sua passagem pelos lençóis, ele estava com a mãe. Com a destreza aprendida em tantos anos de se fazer invisível, empurrou a porta e viu-os entregues ao prazer.
O quebra-luz com franjas do candeeiro irradiava uma luz cálida, que revelava os amantes em cima da cama. A mãe tinha-se transformado numa criatura redonda, rosada, gemente, opulenta, uma ondulante anémona-do-mar, puros tentáculos e ventosas, toda boca, mãos, pernas e orifícios, rodando e voltando a rodar colada ao grande corpo de Bernal que, por contraste, lhe pareceu rígido, torpe, de movimentos espasmódicos, um pedaço de madeira sacudido por uma lufada de vento inexplicável. Até então a rapariga que nunca vira um homem nu, ficou surpreendida com as diferenças fundamentais. A natureza masculina pareceu-lhe brutal e levou um bom bocado a vencer o medo para conseguir olhar. Mas logo foi vencida pelo fascínio da cena e pôde observar com toda a atenção, para aprender com a mãe os gestos que tinham conseguido arrebatar Bernal, gestos mais poderosos que todo o seu amor, que todas as suas orações, todos os seus sonhos e as suas chamadas silenciosas, que todas as suas cerimônias mágicas para o chamar para o seu lado. Tinha a certeza de que naquelas carícias e naqueles sussurros havia a chave do segredo e se conseguisse apoderar-se deles, Juan José Bernal dormiria com ela na rede que pendurava todas as noites em dois ganchos no quarto dos armários. Elena passou os dias seguintes em estado crepuscular. Perdeu completamente o interesse pelo que a rodeava, inclusivamente pelo próprio Bernal, que passou a ocupar um compartimento de reserva na sua mente, e mergulhou numa realidade fantástica que substituiu por completo o mundo dos vivos. Continuou a cumprir as tarefas por força do hábito, mas a sua alma estava ausente de tudo o que fazia. Quando a mãe lhe notou a falta de apetite, atribuiu-o à chegada da puberdade e embora Elena fosse para todos os efeitos demasiado jovem, arranjou tempo para se sentar a sós com ela e pô-la ao corrente da brincadeira de ter nascido mulher. A rapariga ouviu em astuto silêncio a oração sobre maldições bíblicas e sangues menstruais, convencida de que isso nunca lhe aconteceria.
Na quarta-feira Elena sentiu fome pela primeira vez em quase uma semana. Fechou-se na despensa com um abre-latas e uma colher, devorou o conteúdo de três latas de ervilhas, tirou a capa de cera vermelha a um queijo holandês e comeu-o como se fosse uma maça. Depois correu para o pátio e, dobrada em duas, vomitou uma misturada verde por cima dos gerânios. A dor do ventre e o sabor azedo na boca devolveram-lhe o sentido da realidade. Nessa noite dormiu tranquila, enrolada na rede, a chupar o dedo como nos tempos do berço. Na quinta-feira acordou alegre, ajudou a mãe a preparar o café para os pensionistas e tomou o pequeno-almoço com ela na cozinha, antes de ir para a escola. Mas ao chegar lá queixou-se de fortes dores de estômago e tanto se torceu e pediu licença para ir à casa de banho, que a meio da manhã a professora a autorizou a regressar a casa.
Elena fez uma grande volta para evitar as ruas do bairro e, aproximou-se da casa pela parede do fundo, que dava para um barranco. Conseguiu escalar o muro e saltar para o pátio mais facilmente do que pensava. Havia calculado que a essa hora a mãe estava no mercado e como era o dia do peixe fresco demoraria bom tempo a regressar. Em casa apenas se encontravam Juan Bernal e a menina Sofia, que há uma semana não ia ao trabalho com um ataque de artrite.
Elena escondeu os livros e os sapatos debaixo de uma manta e deslizou para o interior da casa. Subiu a escada colada à parede, retendo a respiração, e quando ouviu a rádio novamente a fazer barulho no quarto da menina Sofia sentiu-se mais tranquila. A porta de Bernal cedeu imediatamente. Dentro estava escuro e de momento não viu nada, porque vinha da luz da manhã na rua, mas conhecia o quarto de memória, tinha medido o espaço muitas vezes, sabia onde se encontrava cada objeto, em que lugar preciso rangia o soalho e a quantos passos da porta estava a cama. De qualquer modo, esperou que a vista se acostumasse à penumbra e aparecessem os contornos dos móveis. Ao fim de alguns instantes pôde distinguir também o homem sobre a cama. Não estava de bruços, como tantas vezes o imaginara, mas de costas sobre os lençóis, vestido só com cuecas, um braço estendido e o outro no peito, uma mecha de cabelo sobre os olhos. Elena sentiu logo que o medo e a impaciência acumulados durante aqueles dias desapareciam por completo, deixando-a limpa, com a tranquilidade de quem sabe o que deve fazer. Pareceu-lhe que já vivera aquele momento muitas vezes; disse a si própria que não tinha nada a temer, tratava-se apenas de uma cerimônia um pouco diferente das anteriores. Lentamente tirou a farda da escola, mas não se atreveu a tirar também as cuecas de algodão. Aproximou-se da cama. já podia ver Bernal melhor. Sentou-se na borda, a pouca distância da mão do homem, fazendo que o seu peso não marcasse nem mais uma prega nos lençóis, inclinou-se lentamente até a cara ficar a poucos centímetros dele e poder sentir o calor da sua respiração e o odor adocicado do seu corpo e com infinita prudência estendeu-se a seu lado, esticando cada perna com cuidado para não o despertar. Esperou, escutando em silêncio, até que decidiu poisar a mão sobre o ventre dele numa carícia quase imperceptível. Esse contacto provocou-lhe uma vaga sufocante no corpo, julgou que o ruído do seu coração ecoava por toda a casa e iria despertar o homem. Precisou de vários minutos para recuperar o entendimento e quando verificou que ele não se movia, abrandou a tensão e apoiou a mão com todo o peso do braço, tão leve de qualquer modo, que não alterou o descanso de Bernal. Elena recordou os gestos que tinha visto à mãe e enquanto introduzia os dedos por debaixo do elástico das cuecas procurou a boca do homem e beijou-o como tinha feito tantas vezes no espelho. Bernal gemeu, adormecido ainda, e enlaçou com um braço a rapariga pela cintura, enquanto a outra mão pegava na dela para a guiar e a sua boca se abria para devolver o beijo, murmurando o nome da amante. Elena ouviu-o chamar pela mãe, mas em vez de se afastar apertava-se mais a ele. Bernal agarrou-a pela cintura e pô-la em cima de si, acomodando-a sobre o seu corpo ao mesmo tempo que iniciava os primeiros movimentos de amor. Mas então, ao sentir a fragilidade extrema daquele esqueleto de pássaro sobre o peito, uma chispa de consciência cruzou a densa bruma do sonho e o homem abriu os olhos. Elena sentiu que o corpo dele se retesava, viu-se agarrada pelas costas e afastada com tal violência que foi parar ao chão, mas pôs-se de pé e voltou a ele para o abraçar de novo. Bernal esbofeteou-a e saltou da cama, aterrado quem sabe por antigas proibições e pesadelos.
- Perversa, menina perversa! - gritou. A porta abriu-se e a menina Sofia apareceu no umbral.
Elena passou os sete anos seguintes num internato de freiras, mais três numa universidade da capital e entrou depois num banco. Entretanto, a mãe casou com o amante e a meias continuaram a administrar a pensão até fazerem poupanças suficientes para se retirarem para uma pequena casa de campo, onde cultivavam cravos e crisântemos para vender na cidade. O Rouxinol pôs o seu cartaz de artista numa moldura dourada, mas não voltou a cantar em espetáculos noturnos e ninguém deu por falta dele. Nunca acompanhou a mulher nas visitas à enteada, nem perguntava por ela, para não levantar dúvidas no seu próprio espírito, mas pensava nela frequentemente. A imagem da menina continuou intacta para ele, os anos não a gastaram, continuou a ser a criança lasciva e vencida pelo amor, que ele repudiara. Na verdade, no decorrer dos anos, a recordação daqueles ossos enfezados, daquela mão infantil no seu ventre, daquela língua de bebé na sua boca, foi crescendo até se tornar obsessão. Quando abraçava o corpo pesado da mulher, tinha de concentrar-se nessas visões, invocando Elena a medo, para despertar o impulso cada vez mais difuso do prazer. Ia às lojas de roupa infantil comprar cuecas de algodão para se deliciar acariciando-as e acariciando-se. Depois envergonhava-se desses momentos desvairados e queimava as cuecas ou enterrava-as bem fundo no pátio, na intenção inútil de a esquecer. Habituou-se a rondar as escolas e os parques, para observar de longe as raparigas impúberes, que lhe devolviam por uns instantes demasiado breves o abismo dessa quinta-feira Inesquecível.
Elena tinha vinte e sete anos quando foi visitar a casa da mãe pela primeira vez, para apresentar o noivo, um capitão do Exército, que levara um século a pedir que casasse com ele. Num desses fins de tarde frescos de Novembro, chegaram os jovens, ele à paisana, para não parecer demasiado arrogante em farda militar e ela carregada de presentes. Bernal aguardara a vista com a ansiedade de um adolescente. Olhara-se ao espelho incansavelmente, examinando a sua própria imagem, perguntando se Elena ia ver as mudanças ou se na sua mente o Rouxinol havia permanecido invulnerável ao desgaste do tempo. Preparara-se para o encontro escolhendo cada palavra e imaginando todas as possíveis respostas. A única coisa que não lhe ocorreu foi que em vez da criança de fogo por quem ele tinha vivido atormentado, aparecia na sua frente uma mulher severa e tímida. Bernal sentiu-se atraiçoado.
Ao anoitecer, quando passou a euforia da chegada e mãe e filha haviam contado as últimas novidades uma à outra, levaram cadeiras para o pátio para aproveitar o fresco. O ar estava carregado de cheiro a cravos. Bernal ofereceu um trago de vinho e Elena acompanhou-o para buscar copos. Estiveram sós por uns minutos, frente a frente, na estreita cozinha. E então o homem, que tinha esperado por tanto tempo essa oportunidade, segurou a mulher por um braço e disse-lhe que tudo fora um terrível equívoco, que naquela manhã ele estava a dormir e não soube o que fazia, que nunca quis atirá-la ao chão nem chamá-la daquela maneira, que ela tivesse compaixão e lhe perdoasse, para ver se assim ele podia recuperar o juízo, porque em todos aqueles anos o ardente desejo por ela o assaltara sem descanso, queimando-lhe o sangue e corrompendo-lhe o espírito. Elena olhou-o admirada e não soube que responder. De que menina perversa falava ele? Para ela a infância ficara muito para trás e a dor desse primeiro amor repudiado estava fechada nalgum lugar selado da memória. Não tinha qualquer recordação daquela quinta-feira longínqua.
4 - Clarisa
Clarisa nasceu quando ainda não havia luz eléctrica na cidade, viu na televisão o primeiro astronauta levitando sobre a superfície da Lua e morreu de espanto quando o papa chegou de visita e lhe saíram ao encontro os homossexuais disfarçados de freiras. Tinha passado a infância entre matas de fetos e corredores iluminados por candeeiros de azeite. Os dias corriam lentos naquela época. Clarisa nunca se adaptou aos sobressaltos dos dias de hoje, sempre me pareceu presa pelo ar cor de sépia de um retrato de outro século. Suponho que terá tido um dia cintura virginal, porte gracioso e perfil de medalhão, mas quando eu a conheci já era uma anciã um pouco extravagante, de ombros levantados como duas corcovas e a nobre cabeça coroada por um quisto sebáceo, como um ovo de pomba, à volta do qual enrolava os cabelos brancos. Tinha um olhar travesso e profundo, capaz de penetrar a maldade mais recôndita e regressar intacta. Nos seus muitos anos de existência conseguiu fama de santa e, depois de morrer, muita gente tem a sua fotografia num altar doméstico, junto a outras imagens veneráveis, para lhe pedir ajuda em pequenas dificuldades, apesar de não ser reconhecido pelo Vaticano o seu prestígio de milagreira, certamente nunca o vai ser, porque os benefícios dados por ela são de índole caprichosa: não cura cegos como Santa Luzia, nem encontra marido para as solteiras como Santo Antônio, mas dizem que ajuda a suportar o mal-estar da bebedeira, as dificuldades da recruta, os assédios da solidão. Os seus prodígios são humildes e improváveis, mas tão necessários como as espantosas maravilhas dos santos de catedral.
Conheci-a na minha adolescência, quando eu trabalhava como criada na casa da Senhora, uma senhora da noite, como Clarisa chamava às desse ofício. já nessa altura era quase puro espírito, parecia estar sempre a despegar-se do chão e sair a voar por uma janela. Tinha mãos de curandeira e os que não podiam pagar um médico ou estavam desiludidos da ciência tradicional esperavam a sua vez para que ela os aliviasse das dores ou os consolasse da má sina. A minha patroa costumava chamá-la para lhe pôr as mãos nas costas. Ao mesmo tempo Clarisa esgravatava na alma da Senhora com o propósito de lhe torcer a vida e levá-la por caminhos de Deus, caminhos que a outra não tinha a menor pressa de percorrer, porque essa decisão teria arruinado o seu negócio. Clarisa dava-lhe o calor curativo das suas mãos por dez ou quinze minutos, segundo a intensidade da dor, depois aceitava um sumo de fruta como recompensa pelos seus serviços. Sentadas frente a frente na cozinha, as duas mulheres conversavam sobre o humano e o divino, a minha patroa mais do humano e ela mais do divino, sem atraiçoar a tolerância e o rigor das boas maneiras. Depois mudei de emprego e perdi Clarisa de vista até uns vinte anos mais tarde em que voltamos a encontrar-nos e pudemos restabelecer a amizade até hoje, sem fazer caso dos vários obstáculos que se nos depararam, inclusivamente a sua morte, que veio a semear certa desordem na boa comunicação.
Mesmo no tempo em que a velhice a impedia de se mover com o entusiasmo missionário de antigamente, Clarisa manteve a sua constância em socorrer o próximo, por vezes mesmo contra a vontade dos beneficiados, como foi o caso dos chulos da Rua República, que tinham de suportar, afundados na maior mortificação, as arengas públicas dessa boa senhora no seu inalterável afã de os redimir. Clarisa despojava-se de tudo o que tinha para dar aos necessitados. Geralmente não tinha mais que a roupa que trazia vestida a até ao fim da vida, foi difícil encontrar pobres mais pobres que ela. A caridade tornou-se um caminho de ida e volta e já não se sabia quem dava e quem recebia.
Vivia num casarão de três pisos, escavacado, com alguns quartos vazios e outros alugados como depósito de uma fábrica de licores, de modo que uma pestilência ácida de bêbado contaminava o ambiente. Não se mudava daquela casa, herança dos pais, porque recordava o seu passado avoengo e porque desde há mais de quarenta anos o marido se tinha enterrado ali em vida, no quarto do fundo do pátio. O homem fora juiz numa província longínqua, ofício que exerceu com dignidade até ao nascimento do seu segundo filho, quando a decepção lhe tirou o interesse por enfrentar a sorte e se refugiou como uma toupeira na cova malcheirosa do seu quarto. Saía muito raramente, como uma sombra fugidia, e só abria a porta para despejar o penico e recolher a comida que a mulher lhe deixava todos os dias. Comunicava com ela por meio de notas escritas com a sua perfeita caligrafia e pancadas na porta, duas para sim e três para não. Através das paredes do quarto podiam-se ouvir a sua rouquidão asmática e alguns palavrões de pirata que não se sabia bem a quem eram dirigidos.
- Pobre homem, oxalá Deus o chame para seu lado quanto antes e o ponha a cantar num coro de anjos - suspirava Clarisa sem ponta de ironia; mas a morte oportuna do marido não foi uma das graças dadas pela Divina Providência, já que tem sobrevido até hoje, embora deva ter mais do que cem anos, a menos que tenha morrido e as tosses e maldições que se ouvem sejam só o eco de ontem. Clarisa casou-se com ele porque foi o primeiro a pedi-la e aos pais lhes pareceu que um juiz era o melhor partido possível. Ela deixou o sóbrio bem-estar da casa paterna para se habituar à avareza e à vulgaridade do marido sem pretender fortuna melhor. A única vez que se lhe ouviu um comentário nostálgico pelos requintes do passado foi a propósito de um piano de cauda, com o qual se deleitava desde menina.
Assim soubemos do seu amor pela música e muito mais tarde quando já velha, nós, um grupo de amigos, lhe oferecemos um modesto piano. Até então, ela tinha passado quase sessenta anos sem ver de perto um teclado, mas sentou-se no banco e tocou de memória e sem a menor hesitação um Noturno de Chopin.
Uns dois anos depois da boda com o juiz, nasceu uma filha, que, mal começou a caminhar, acompanhava a mãe à igreja. A garota ficou de tal maneira deslumbrada com os ouropéis da liturgia, que começou a arrancar os reposteiros para se vestir de bispo, e a única brincadeira que lhe interessava era imitar os gestos da missa e entoar cânticos em latim da sua invenção.
Era irremediavelmente atrasada, apenas pronunciava palavras em língua desconhecida, babava-se sem parar e sofria de incontroláveis ataques de maldade, durante os quais tinham de a amarrar como um animal de feira para evitar que estragasse os móveis e atacasse as pessoas. Com a puberdade tornou-se tranquila e ajudava a mãe nas lides da casa. O segundo filho veio ao mundo com um doce rosto asiático, desprovido de curiosidade, e a única habilidade que conseguiu fazer foi equilibrar-se numa bicicleta, mas não lhe serviu de muito porque a mãe nunca se atreveu a deixá-lo sair de casa. Passou a vida a pedalar no pátio numa bicicleta sem rodas presa a uma estante de música.
A anormalidade dos seus filhos não afetou o sólido optimismo de Clarisa, que os considerava almas puras imunes ao mal, e se relacionava com eles só em termos de afeto. A sua maior preocupação era preservá-los incólumes a sofrimentos terrenos, perguntando amiúde quem cuidaria deles se ela lhes faltasse. O pai, por seu lado, nunca falava deles, agarrou-se ao pretexto de serem filhos atrasados mentais para se sumir na vergonha, abandonar o trabalho, os amigos e até o ar fresco e sepultar-se na sua cave, ocupado a copiar com paciência de monge medieval os jornais num caderno de notário. Entretanto, a mulher gastou até ao último cêntimo o dote e a herança para ir trabalhar em toda a espécie de pequenos ofícios a fim de manter a família. As suas próprias penúrias não a afastaram das penúrias dos outros e mesmo nos períodos mais difíceis da sua existência não pôs de lado os seus trabalhos de misericórdia.
Clarisa tinha uma ilimitada compreensão pelas debilidades humanas. Uma noite, já velha de cabelos brancos, estava a coser no quarto quando ouviu ruídos inusitados em casa. Levantou-se para ver o que era, mas não conseguiu sair, porque na porta deu de frente com um homem que lhe apontou uma faca ao pescoço.
- Silêncio, minha puta, ou despacho-te com um só golpe - ameaçou.
- Não é aqui, meu filho. As senhoras da noite estão do outro lado da rua onde tocam música.
- Não te enganes, isto é um assalto.
- Como é que dizes? - sorriu incrédula Clarisa. - E que é que me vais roubar?
- Senta-te nessa cadeira, vou amarrar-te.
- De maneira nenhuma, meu filho, posso ser tua mãe, não me faltes ao respeito.
- Senta-te!
- Não grites, porque vais assustar o meu marido, que está fraco de saúde. E guarda a faca, que podes ferir alguém - disse Clarisa.
- Ouça, minha senhora, eu vim roubar - murmurou o assaltante desconcertado.
- Não, isto não é um roubo. Eu não te vou deixar cometer um pecado. Vou dar-te algum dinheiro de livre vontade. Não estás a tirar-me, sou eu que to estou a dar, compreendes? - Foi à sua carteira e tirou o que tinha para o resto da semana. - Não tenho mais. Somos uma família bastante pobre, como vês. Vem comigo à cozinha, vou pôr a chaleira ao lume.
O homem guardou a faca e seguiu-a com as notas na mão.
Clarisa preparou chá para ambos, serviu as últimas bolachas que lhe restavam e convidou-o a sentar-se na sala.
- De onde te veio a ideia peregrina de roubar esta pobre velha?
O ladrão contou-lhe que a tinha observado durante dias, sabia que vivia sozinha e pensou que naquele casarão haveria qualquer coisa para levar. Era o seu primeiro assalto, disse ele, tinha quatro filhos, estava sem trabalho e não podia chegar outra vez a casa de mãos vazias. Ela fez-lhe ver que o risco era demasiado grande, não só levá-lo à prisão, como também se podia condenar ao Inferno, embora ela duvidasse que Deus fosse castigá-lo com tanto rigor, quando muito iria parar ao Purgatório, se se arrependesse, claro, e não voltasse a fazê-lo. Ofereceu-se para o juntar à lista dos seus protegidos e prometeu-lhe não o denunciar às autoridades. Despediram-se com um beijo na cara. Nos dez anos seguintes até à morte de Clarisa, o homem mandava-lhe por correio, todos os Natais, um pequeno presente.
Nem todas as relações de Clarisa eram deste cariz, também conhecia gente de prestígio, senhoras de estirpe, ricos comerciantes, banqueiros e homens públicos, a quem visitava procurando ajuda para o próximo, sem ficar a pensar como seria recebida. Certo dia apresentou-se no escritório do deputado Diego Cienfuegos, conhecido pelos seus discursos incendiários e por ser um dos poucos políticos incorruptíveis do país, o que não o impediu de subir a ministro e acabar nos livros de história como pai intelectual de um certo tratado de paz.
Nessa época Clarisa era jovem e um pouco tímida, mas já com a tremenda determinação que a caracterizou na velhice. Chegou onde estava o deputado para lhe pedir que usasse da sua influência para conseguir uma geleira nova para as Irmãs de Santa Teresa. O homem olhou-a admirado, sem perceber as razões pelas quais ele devia ajudar as suas inimigas ideológicas.
- Porque no refeitório das freirinhas almoçam de graça cem meninos por dia, e são quase todos filhos de comunistas e evangélicos que votam em si - respondeu suavemente Clarisa.
Assim nasceu entre ambos uma discreta amizade que havia de custar-lhe muitas canseiras e favores ao político. Com a mesma lógica irrefutável conseguiu dos jesuítas bolsas escolares para rapazes ateus, da Acção das Senhoras Católicas roupas usadas para as prostitutas do seu bairro, do Instituto Alemão instrumentos de música para um coro hebreu, dos donos das vinhas fundos para os programas de alcoólicos.
Nem o marido sepultado no mausoléu do quarto, nem as extenuantes horas de trabalho diário evitaram que Clarisa engravidasse uma vez mais. A parteira avisou-a de que com toda a probabilidade daria à luz outro anormal, mas ela tranquilizou-a com o argumento de que Deus mantém certo equilíbrio no universo, e tal como Ele cria algumas coisas tortas, também cria outras direitas, por cada virtude há um pecado, por cada alegria uma desdita, por cada mal um bem e, assim por diante, no eterno girar da roda da vida tudo se compensa através dos séculos.
O pêndulo vai e vem com inexorável precisão, dizia ela.
Clarisa passou sem pressa o tempo da gravidez e deu à luz um terceiro filho. O nascimento foi em casa, ajudado pela parteira e amenizado pela companhia das crianças atrasadas mentais, seres inofensivos e sorridentes que passavam o tempo entretidos nas suas brincadeiras, uma a murmurar discursos no seu traje de bispo e o outro a pedalar até parte nenhuma numa bicicleta imóvel. Nesta ocasião a balança moveu-se no sentido justo para preservar a harmonia da Criação e nasceu um rapaz forte, de olhos sábios e mãos firmes, que a mãe pôs sobre o peito, agradecida. Catorze meses depois Clarisa deu à luz outro filho com as características do anterior.
- Estes vão crescer sãos para me ajudar a cuidar dos dois primeiros - concluiu ela, fiel à sua teoria das compensações, e assim foi, porque os filhos mais pequenos vieram a ser direitos como duas canas e bem dotados para a bondade.
De qualquer modo Clarisa lá se arranjou para manter os quatro meninos sem a ajuda do marido e sem perder o orgulho de grande senhora pedindo caridade para si própria. Poucos souberam dos seus apertos financeiros. Com a mesma tenacidade com que passava as noites em claro fabricando bonecas de trapo ou tortas de noiva para vender, lutava contra a deterioração da sua casa, cujas paredes começavam a suar um vapor esverdeado, e transmitia aos filhos mais pequenos os seus princípios de bom humor e generosidade com tão bom efeito que nas décadas seguintes eles estiveram sempre junto dela suportando a carga dos irmãos mais velhos, até que um dia estes ficaram fechados na casa de banho e uma fuga de gás os mandou calmamente para o outro mundo.
A chegada do papa deu-se quando Clarisa ainda não tinha oitenta anos, embora não fosse fácil calcular a sua idade exata, porque a ia aumentando por coqueteria, apenas para ouvir dizer como se conservava tão bem aos oitenta e cinco que apregoava. Animo tinha de mais, mas falhava-lhe o corpo, custava-lhe caminhar, desorientava-se nas ruas, não tinha apetite, acabou por se alimentar de flores e mel. O espírito foi-se-lhe desprendendo da mesma maneira de que lhe nasceram as asas, mas os preparativos da visita papal voltaram a dar-lhe o entusiasmo pelas aventuras terrenas. Não quis ver o espetáculo pela televisão porque sentia uma desconfiança profunda pelo aparelho. Estava convencida que até o astronauta da Lua era uma patranha filmada num estúdio de Hollywood, tal como enganavam os outros com aquelas histórias em que os protagonistas se amavam ou morriam a fingir e uma semana depois reapareciam com as mesmas caras, sofrendo outros destinos. Clarisa quis ver o pontífice com os seus próprios olhos, para que não lhe fossem mostrar na tela um ator com paramentos episcopais, de modo que eu tive de acompanhá-la a vitoriá-lo na sua passagem pelas ruas.
Ao fim de algumas horas, defendendo-nos de uma multidão de crentes, vendedores de velas, camisolas estampadas, cromos e santos de plástico, conseguimos descortinar o Santo Padre, magnífico numa caixa de vidro portátil como um atum branco no seu aquário. Clarisa caiu de joelhos, ia sendo esmagada pelos fanáticos e pelos guardas da escolta. Nesse momento, quando tínhamos o papa à distância de uma pedrada, surgiu por uma rua lateral uma coluna de homens vestidos de freiras, com a cara borrada de tinta, levantando cartazes em favor do aborto, do divórcio, da sodomia e do direito de as mulheres exercerem o sacerdócio. Clarisa vasculhou no seu bolso com a mão a tremer, encontrou os óculos, e pô-los para ter a certeza de que não se tratava de uma alucinação.
- Vamos embora, filha. já vi de mais - disse-me pálida.
Estava tão baralhada que, para a distrair, me ofereci para lhe comprar um cabelo do papa, mas não quis, porque não tinha garantia de autenticidade. O número de relíquias capilares oferecidas pelos comerciantes era tal que dava para encher um par de colchões, segundo o cálculo de um jornal socialista.
- Estou muito velha e já não percebo nada do mundo, minha filha. O melhor é voltar para casa. - Chegou extenuada ao casarão, com o barulho dos sinos e dos gritos de vitória ainda nos tímpanos. Eu fui à cozinha preparar uma sopa para o juiz e aquecer água para lhe dar, a ela, um chá de macela, para ver se a tranquilizava um pouco. Entretanto, Clarisa, com uma expressão de grande melancolia, pôs tudo em ordem e serviu o último prato de comida para o marido. Poisou a bandeja em frente da porta fechada e chamou pela primeira vez em mais de quarenta anos.
- Quantas vezes disse eu para não me chatearem? - protestou a voz descrépita do juiz.
- Desculpa, querido, só quero avisar-te de que vou morrer.
- Quando?
- Na sexta-feira.
- Está bem - e não abriu a porta. Clarisa chamou os filhos para lhes anunciar o seu próximo fim e deitou-se de seguida na sua cama. Tinha um quarto grande, escuro, com pesados móveis em talha de acaju, que não chegaram a tornar-se antiguidades porque os estragos os destruíram pelo caminho. Sobre a cômoda havia uma redoma de cristal com um Menino Jesus de cera de um realismo surpreendente, parecia um bebé acabado de tomar banho.
- Gostava que ficasses com o menininho, para tomares conta dele, Eva.
- Não pensa morrer, não me faça passar estes sustos.
- Tens de o pôr à sombra, se lhe bate o sol derrete-se. Dura há quase um século e pode durar outro tanto se o protegeres do clima.
Compus-lhe no alto da cabeça os cabelos de merengue, enfeitei-lhe o penteado com uma fita e sentei-me a seu lado, disposta a acompanhá-la nesse transe, sem saber ao certo do que se tratava, porque o momento necessitava de todo o sentimentalismo, como se na verdade não fosse uma agonia, mas um aprazível resfriamento.
- Seria melhor eu confessar-me, não te parece, minha filha? - Mas que pecados pode ter a senhora, Clarisa?
- A vida é longa e sobra tempo para o mal, graças a Deus.
- Vai direita ao Céu, se é que o Céu existe.
- Claro que existe, mas não é tão certo que me aceitem. São muito exigentes - murmurou. E depois de uma longa pausa, acrescentou: - Passando uma a uma as minhas faltas, vejo que há uma bastante grave...
Tive um calafrio, receando que aquela anciã com auréola de santa me dissesse que tinha eliminado intencionalmente os filhos atrasados mentais para facilitar a justiça divina, ou que não acreditava em Deus e que se dedicara a fazer o bem neste mundo só porque na balança lhe coubera essa sorte, para compensar o mal dos outros, mal que por sua vez não tinha importância, já que tudo faz parte do mesmo processo infinito.
Mas não foi nada assim tão dramático o que Clarisa me confessou. Virou-se para a janela e disse ruborizada que se tinha negado a cumprir os deveres conjugais.
- Que significa isso? - perguntei.
- Bom... refiro-me a não satisfazer os desejos carnais de meu marido, percebes?
- Não.
- Se uma mulher nega o seu corpo e ele cai na tentação de procurar alívio noutra, então é dela a responsabilidade moral.
- Estou a ver. O juiz fornica e o pecado é seu.
- Não, não. Parece-me que seria de ambos, tínhamos de lhe perguntar.
- O marido tem a mesma obrigação que a mulher?
- Ah?
- Quero dizer que se a senhora tivesse tido outro homem, a falta seria também do seu marido?
- O que te vai por essa cabeça, filha! - olhou-me admirada.
- Não se preocupe, se o seu pior pecado é ter negado o corpo ao juiz, estou certa de que Deus entenderá isso como brincadeira.
- Não acredito que Deus tenha humor para essas coisas.
- Duvidar da perfeição divina, isso sim, é um grande pecado, Clarisa.
Parecia tão saudável que custava imaginar a sua próxima partida, mas pensei que os santos, ao contrário dos simples mortais, têm o poder de morrer sem medo e em pleno uso das suas faculdades. O seu prestígio era tão sólido, que muitos afirmavam ter visto um círculo de luz à volta da sua cabeça e ter ouvido música celestial na sua presença, por isso não me surpreendi, ao despi-la para lhe enfiar a camisa de noite, de encontrar nos seus ombros dois volumes inflamados, como se estivesse quase a rebentar-lhe um par de asas de anjinho.
O boato da agonia de Clarisa correu rápido. Os filhos e eu tivemos de atender uma infindável fila de gente que vinha pedir a sua intervenção no Céu para diversos favores ou simplesmente a despedir-se. Muitos esperavam que no último momento acontecesse um prodígio significativo, como por exemplo o cheiro a garrafas azedas que infestava o ambiente se transformasse em perfume de camélias ou que o seu corpo brilhasse com raios de consolação. Entre eles apareceu um amigo, o bandido, que não tinha emendado o rumo e estava transformado num verdadeiro profissional. Sentou-se junto da cama da moribunda e contou-lhe as suas andanças sem sinais de arrependimento.
- Corre-me tudo muito bem. Agora entro, nada mais nada menos, que nas casas do bairro alto. Roubo aos ricos e isso não é pecado. Nunca tive de usar da violência, eu trabalho com limpeza, como um cavalheiro - explicou com certo orgulho.
- Vou ter de rezar muito por ti, meu filho.
- Reze, avozinha, que isso não me fará mal.
Também a Senhora apareceu comovida a dizer adeus à sua querida amiga, trazendo uma coroa de flores e uns doces de nougat para contribuir para o velório. A minha antiga patroa não me reconheceu, mas eu não tive dificuldade em identificá-la, porque não mudara assim tanto, via-se bastante bem, apesar da sua gordura, a peruca e os seus extravagantes sapatos de plástico com estrelas douradas. Ao contrário do ladrão, ela vinha dizer a Clarisa que os seus conselhos de outros tempos tinham caído em terra fértil e que agora era uma cristã decente.
- Conte isso ao São Pedro, para que me limpe do livro negro - pediu-lhe.
- Que grande fiasco será para essas boas pessoas se em vez de eu ir para o Céu acabo cozinhada nas caldeiras do Inferno... - comentou a moribunda quando, finalmente, consegui fechar a porta para ela descansar um pouco.
- Se isso acontecer lá em cima, aqui em baixo ninguém vai saber, Clarisa.
- Melhor assim.
Desde a madrugada de sexta-feira juntou-se enorme multidão na rua e só com muita dificuldade os filhos conseguiram impedir a invasão de crentes dispostos a levar qualquer relíquia, desde pedaços de papel das paredes até à escassa roupa da santa.
Clarisa, decaía a olhos vistos e, pela primeira vez, fez sinais de levar a sério a sua própria morte. Aí pelas dez parou em frente da casa um carro com chapas do Congresso.
O motorista ajudou a descer do banco traseiro um velho que a multidão reconheceu imediatamente. Era D. Diego Cienfuegos, convertido em magnata, depois de tantos anos de serviço na vida pública. Os filhos de Clarisa saíram para o receber e acompanharam-no na sua penosa subida até ao segundo andar. Ao vê-lo no umbral da porta, Clarisa animou-se, voltou a ter rubor nas faces e brilho nos olhos.
- Por favor, leva toda a gente do quarto e deixa-nos a sós - segredou-me ao ouvido.
Vinte minutos mais tarde abriu-se a porta e D. Diego Cienfuegos saiu a arrastar os pés, com os olhos encharcados de lágrimas, maltratado e entrevado mas sorridente. Os filhos de Clarisa, que o esperavam no corredor, agarram-no de novo pelos braços para o ajudar, e então, ao vê-los juntos, confirmei algo que não tinha notado antes. Aqueles três homens tinham o mesmo porte e o mesmo perfil, a mesma segurança pausada, os mesmos olhos sábios e mãos firmes.
Esperei que descessem a escada para voltar para junto da minha amiga. Aproximei-me para lhe ajeitar as almofadas e vi que, também ela como o visitante, chorava com certo regozijo.
- D. Diego foi o seu pecado mais grave, não é verdade? - sussurrei-lhe.
- Isso não foi pecado, minha filha, apenas uma ajuda de Deus para equilibrar a balança do destino. E estás a ver como resultou às mil maravilhas, porque por dois filhos atrasados tive outros dois para tomarem conta deles.
Nesse momento Clarisa morreu sem angústia. De cancro, diagnosticou o médico ao ver os seus rebentos de asas; de santidade, proclamaram os devotos apinhados na rua com círios e flores; de assombro, digo eu, porque estive com ela quando o papa nos visitou.
5 - Boca de sapo
Os tempos eram duros no Sul. Não no Sul deste país, mas do mundo, onde as estações mudaram e o Inverno não é no Natal, como nas nações cultas, mas a meio do ano, como nas regiões bárbaras. Pedra, colmo e gelo, extensas planícies que até à Terra do Fogo desfazem-se num rosário de ilhas, picos de cordilheira nevada fechando o horizonte ao longe, silêncio instalado ali desde o nascimento dos tempos e interrompido por vezes pelo suspiro subterrâneo dos glaciares deslizando lentamente para o mar. É uma natureza áspera, habitada por homens rudes. Nos princípios do século nada havia ali que os Ingleses pudessem levar, mas obtiveram concessões para criar ovelhas. Em poucos anos os animais multiplicaram-se de tal forma que ao longe pareciam nuvens agarradas rente à terra, comeram toda a vegetação e pisaram os últimos altares das culturas indígenas. Era nesse lugar que Hermelinda ganhava a vida com jogos de fantasia.
No meio do descampado erguia-se, como uma torta abandonada, a grande casa da Companhia Pecuária, rodeada por um relvado absurdo, defendido contra os rigores do clima pela esposa do administrador, que não pôde resignar-se a viver fora do coração do Império Britânico e continuou a vestir-se de gala para cear a sós com o marido, um fleumático cavalheiro perdido no orgulho de tradições obsoletas. Os peões crioulos viviam nas barracas do acampamento, separados dos patrões por cercas de arbustos espinhosos e rosas silvestres, que tentavam em vão limitar a imensidão da pampa e criar para os estrangeiros a ilusão de uma suave campina inglesa.
Vigiados pelos guardas da gerência, atormentados pelo frio e sem tomar uma sopa caseira durante meses, os trabalhadores sobreviviam à desgraça, tão desamparados como o gado a seu cargo. Pelas tardes não faltava quem pegasse na guitarra e então a paisagem enchia-se de canções sentimentais. Era tanta a carência de amor, apesar da pedra-lume posta pelo cozinheiro na comida para apaziguar os desejos do corpo e as urgências da recordação que os peões fornicavam com as ovelhas e até com alguma foca, se ela se aproximava da costa e conseguiam caçá-la. Estes animais têm grandes mamas, como seios de mãe, e ao tirar-lhes a pele, quando ainda vivas, quentes e palpitantes, um homem muito necessitado pode fechar os olhos e imaginar que abraça uma sereia. Apesar destes inconvenientes os operários divertiam-se mais que os seus patrões graças às brincadeiras ilícitas de Hermelinda.
Era a única mulher jovem em toda a extensão daquela terra, salvo a dama inglesa, que só passava a cerca das rosas para matar lebres a tiro de espingarda, vislumbrando-se nessas ocasiões apenas o véu do seu chapéu no meio de uma poeirada de inferno e uma barulheira de cães perdigueiros. Hermelinda, pelo contrário, era uma fêmea próxima e precisa, com uma mistura atrevida de sangue nas veias e uma ótima disposição para festejar. Tinha escolhido esse ofício de consolo por pura e simples vocação, gostava de quase todos os homens em geral e de muitos em particular. Reinava entre eles como uma abelha-mestra. Amava neles o cheiro do trabalho e do desejo, a voz rouca, a barba de dois dias, o corpo vigoroso e ao mesmo tempo tão vulnerável nas suas mãos, a índole combativa e o coração ingênuo. Conhecia a fortaleza ilusória e a debilidade extrema dos seus clientes, mas não se aproveitava de nenhuma dessas condições, pelo contrário, compadecia-se de ambas. Na sua natureza bravia havia traços de ternura maternal e, frequentemente, a noite encontrava-a cosendo remendos numa camisa, cozinhando uma galinha para algum trabalhador enfermo ou escrevendo cartas de amor para noivas remotas. Fazia a sua fortuna sobre um colchão de lã crua, debaixo de um tecto de zinco ondulado que produzia música de flautas e oboés quando o vento o atravessava.
Tinha as carnes firmes e a pele sem mácula, ria-se com gosto e sobravam-lhe desejos, muito mais do que uma ovelha aterrorizada ou uma pobre foca sem couro podiam oferecer. Em cada abraço, por breve que fosse, revelava-se como uma amiga entusiasta e travessa. A fama das suas sólidas pernas de ginete e suas mamas invulneráveis ao uso havia percorrido seiscentos quilômetros de província agreste e os seus namorados viajavam de longe para passar um bocado na sua companhia. As sextas-feiras chegavam a galopar à rédea solta de lugares tão afastados que os animais, cobertos de espuma, caíam desmaiados. Os patrões ingleses proibiam o consumo de álcool, mas Hermelinda lá fazia por destilar uma aguardente clandestina com a qual melhorava o ânimo e arruinava o fígado dos seus hóspedes, mas que também servia para acender as suas lâmpadas à hora da diversão. As apostas começavam depois da terceira rodada de licor, quando se tornava impossível concentrar a vista ou agudizar o entendimento.
Hermelinda tinha descoberto a maneira de obter benefícios seguros sem armadilhas. Salvo as cartas e os dados, os homens dispunham de vários jogos, e sempre o único prêmio era a sua pessoa. Os que perdiam entregavam-lhe o seu dinheiro e também os que ganhavam, Mas obtinham o direito de desfrutar um pedaço breve da sua companhia, sem subterfúgios nem preliminares, não porque a ela lhe faltasse boa vontade, mas porque não dispunha de tempo para dar a todos uma atenção mais esmerada. Os participantes na Galinha Cega tiravam as calças, mas conservavam os coletes, os gorros e as botas forradas de pele de cordeiro, para se protegerem do frio antárctico que assobiava por entre os tabuões. Ela vendava-lhes os olhos e a perseguição começava. às vezes armava-se tal alvoroço que as risadas e os arquejos cruzavam a noite mais para lá das rosas e chegavam aos ouvidos dos Ingleses, que ficavam impassíveis, fingindo que se tratava só do capricho do vento na rampa, enquanto continuavam a beber lentamente a sua última chávena de chá-de-ceilão antes de irem para a cama. O primeiro que punha a mão em cima de Hermelinda dava um cacarejo exultante e louvava a sua sorte, enquanto a aprisionava em seus braços. O balanço era outro dos jogos. A mulher sentava-se numa tábua pendurada no tecto por duas cordas. Desafiando os olhares apreciadores dos homens flectia as pernas e todos podiam ver que não tinha nada por debaixo dos saiotes amarelos. Os jogadores, dispostos em fila, tinham uma só oportunidade de a atacar e quem conseguia o objetivo via-se apanhado entre as coxas da bela, numa agitação de saias, balançando, embalado até aos ossos e, finalmente, levado ao céu.
Mas muito poucos conseguiam isso e a maioria rebolava pelo chão por entre as gargalhadas dos outros.
No jogo do Sapo um homem podia perder em quinze minutos o ordenado de um mês. Hermelinda desenhava no chão uma marca de giz e a quatro passos de distância traçava um grande círculo, dentro do qual se deitava, com os joelhos abertos e as pernas douradas à luz dos candeeiros de aguardente. Aparecia então o centro escuro do seu corpo, aberto como uma fruta, como uma alegre boca de sapo, enquanto o ar do quarto se tornava denso e quente. Os jogadores ficavam por detrás da marca de giz e atiravam procurando acertar no alvo. Alguns eram exímios atiradores, de pulso tão seguro que podiam deter um animal assustado em pleno galope atirando-lhe entre as patas duas bolas de pedra atadas por uma corda. Mas Hermelinda tinha uma maneira imperceptível de fugir com o corpo, de escapar-se para que no último instante a moeda perdesse o rumo. As que caíam dentro do círculo de giz pertenciam à mulher. Se alguma entrasse na porta, dava ao seu dono um tesouro de sultão, duas horas detrás da cortina, sozinho com ela, em completo regozijo, para procurar consolo por todas as penúrias passadas e sonhar com os prazeres do paraíso. Diziam, os que tinham vivido essas duas horas preciosas, que Hermelinda conhecia antigos segredos de amor e que era capaz de levar um homem até à porta da morte e trazê-lo de volta transformado em sábio.
Até ao dia em que apareceu Paulo, o asturiano, muito poucos tinham ganho essas duas horas prodigiosas, embora vários tivessem desfrutado algo semelhante mas não por uns cêntimos, mas por metade do salário. Por essa altura ela tinha acumulado uma pequena fortuna, mas a ideia de se retirar para uma vida mais convencional não lhe tinha ainda ocorrido, na verdade tirava muito partido do seu trabalho e sentia-se orgulhosa das faíscas felizes que podia oferecer aos peões. Paulo era um homem seco, de ossos de frango e mãos de menino, cujo aspecto físico contradizia com a tremenda tenacidade do seu temperamento. Ao lado da opulenta e jovial Hermelinda ele parecia um tipo metediço, envergonhado, mas aqueles que ao vê-lo chegaram a pensar que podiam rir-se um bom bocado à sua custa, tiveram uma surpresa bem desagradável. O pequeno forasteiro reagiu como uma víbora à primeira provocação, disposto a bater-se com quem lhe ficasse pela frente, mas a briga esgotou-se antes de começar, porque a primeira regra de Hermelinda era que debaixo do seu tecto não se lutava.
Estabelecida a sua dignidade, Paulo sossegou. Tinha uma expressão decidida e algo fúnebre, falava pouco e quando o fazia tornava-se evidente a sua pronúncia espanhola. Tinha saído da sua pátria escapando à Polícia e vivia do contrabando através dos desfiladeiros dos Andes. Até então tinha sido um eremita carrancudo e brigão, que se estava nas tintas para o clima, as ovelhas e os Ingleses. Não pertencia a nenhum lado e não reconhecia amores nem deveres, mas já não era jovem e a solidão ia-lhe entrando nos ossos. Por vezes despertava ao amanhecer sobre o chão gelado, embrulhado na sua manta negra de Castela e com a sela por almofada, sentindo que lhe doía todo o corpo. Não era uma dor de músculos entumecidos, mas de tristezas acumuladas e abandono. Estava farto de vaguear como um lobo, mas também não estava feito para a mansidão doméstica. Chegou àquelas terras, porque ouviu o boato de que no fim do mundo havia uma mulher capaz de torcer a direção do vento, e quis vê-la com os seus próprios olhos. A enorme distância e os perigos do caminho não conseguiram fazê-lo desistir e quando por fim se encontrou na adega e teve Hermelinda ao alcance da mão, viu que ela era feita do mesmo metal rijo que ele e decidiu que depois de uma viagem tão longa não valia a pena continuar a viver sem ela. Sentou-se num canto do quarto a observá-la com cuidado e a calcular as suas possibilidades.
O asturiano tinha tripas de aço e pôde emborcar vários copos do licor de Hermelinda sem que as lágrimas lhe viessem aos olhos. Não aceitou tirar a roupa para a Roda de São Miguel, para o Mandandirun-dirun-dán nem para as outras coisas que lhe pareceram francamente infantis, mas no final da noite, quando chegou o momento culminante do Sapo, cuspiu o mau sabor do álcool e juntou-se ao coro de homens à volta do círculo de giz. Hermelinda pareceu-lhe formosa e selvagem como uma leoa das montanhas. Sentiu acordar o instinto de caçador e a vaga dor do desamparo, que lhe tinha atormentado os ossos durante toda a viagem, tornou-se gostosa antecipação. Viu os pés calçados com botas curtas, as meias grossas presas com elásticos abaixo dos joelhos, os ossos grandes e os músculos tensos daquelas pernas de ouro entre as ondas dos saiotes amarelos e soube que tinha uma oportunidade de a conquistar.
Tomou posição, fincando os pés no chão e inclinando o corpo até encontrar o próprio eixo da sua existência, e com uma olhadela rápida paralisou a mulher no seu lugar e obrigou-a a renunciar aos seus truques de contorcionista. Ou talvez as coisas não sucedessem assim, talvez tivesse sido ela que o escolheu entre os outros para a aquecer com o presente da sua companhia. Paulo aguçou a vista, expirou todo o ar do peito e depois de alguns segundos de concentração absoluta atirou a moeda. Todos a viram fazer um arco perfeito e entrar certeira no lugar preciso. Uma salva de palmas e assobios de inveja celebrou a façanha. Impassível o contrabandista ajeitou o cinturão, deu três grandes passos em frente, agarrou na mão da mulher e pô-la de pé, disposto a provar-lhe em precisamente duas horas, que também ela já não podia prescindir dele. Saiu quase a arrastando e os outros ficaram a olhar os relógios e a beber, até que passou o tempo do prêmio, mas nem Hermelinda nem o estrangeiro apareceram. Passaram três horas, quatro, toda a noite, amanheceu e soaram os sinos da gerência chamando para o trabalho, sem que se abrisse a porta.
Ao meio-dia os amantes saíram do quarto. Paulo não trocou um só olhar com ninguém, selou o seu cavalo, outro para Hermelinda e uma mula para carregar a bagagem. A mulher vestia calças e casaco de viagem e levava atada à cintura uma bolsa de lona cheia de moedas. Tinha uma nova expressão nos olhos e um bambolear satisfeito no traseiro inesquecível. Acomodaram cuidadosamente os objetos no lombo dos animais, montaram e começaram a andar. Hermelinda fez um gesto vago de despedida aos seus desolados admiradores e seguiu Paulo, o asturiano, pelas planícies desoladas sem olhar para trás. Nunca mais regressou.
Foi tanta a consternação provocada pela partida de Hermelinda que para divertir os seus trabalhadores a Companhia Pecuária instalou balanços, comprou dardos e flechas para o tiro ao alvo e mandou vir de Londres um enorme sapo de loiça pintado com a boca aberta, para que os peões afinassem a pontaria atirando-lhe moedas. Mas face à indiferença geral, estes brinquedos acabaram por decorar o terraço da gerência, onde os Ingleses ainda os usam para combater o tédio dos fins de tarde.
6 - O ouro de Tomás Vargas
Antes de começar a bulha do progresso, quem tinha algumas poupanças enterrava-as, era a única maneira conhecida de guardar dinheiro, mas, mais tarde, as pessoas passaram a confiar nos bancos. Quando fizeram a estrada e se tornou mais fácil chegar de autocarro à cidade, trocaram as moedas de ouro e prata por papéis pintados e meteram-nos em caixas-fortes, como se fossem tesouros. Tomás Vargas gozava com eles às gargalhadas, porque não acreditava naquele sistema. O tempo deu-lhe razão, quando acabou o governo do Benfeitor - que durou cerca de trinta anos, dizem - as notas não valiam nada e muitas acabaram coladas como adorno nas paredes, infame recordação da ingenuidade dos seus donos. Enquanto todos os outros escreviam cartas ao novo presidente e aos jornais para se queixarem da fraude colectiva das novas moedas, Tomás Vargas tinha as suas moedas de ouro numa cova segura, embora isso não acabasse com os seus hábitos de avarento e pedinte.
Era homem sem qualquer decência, pedia dinheiro emprestado sem intenção de o devolver, e mantinha os filhos esfomeados e a mulher andrajosa, enquanto ele usava chapéus de pelo de guama e fumava cigarros de grande senhor. Nem sequer pagava a quota da escola, os seus seis filhos legítimos educaram-se gratuitamente porque a professora Inés decidiu que enquanto ela estivesse de perfeito juízo e com forças para trabalhar nenhum menino do povo ficaria sem saber ler. A idade não lhe tirou o ser brigão, bebedor e mulherengo. Tinha muita honra em ser o mais machão da região, como apregoava na praça sempre que a borracheira lhe fazia perder o juízo gritar a plenos pulmões os nomes das raparigas que seduzira e dos bastardos que tinham o seu sangue. Se fossem a acreditar nele, tinha tido perto de trezentos, porque em cada gabarolice dava nomes diferentes. Os polícias levaram-no preso várias vezes e o tenente em pessoa aplicou-lhe umas quantas palmadas no traseiro a ver se lhe melhorava o carácter, mas isso não deu mais resultados que as censuras do padre. Na verdade só respeitava Riad Halabí, o dono do armazém, razão por que os vizinhos recorriam a ele quando suspeitavam que tinha exagerado com a dissipação e estava a desancar a mulher ou os filhos.
Nessas alturas o árabe abandonava o balcão com tanta pressa, que nem se lembrava de fechar a loja, e aparecia sufocado de desgosto justiceiro, a pôr ordem no rancho dos Vargas. Não tinha necessidade de dizer muita coisa, ao velho bastava vê-lo para se acalmar. Riad Halabí era o único capaz de envergonhar aquele velhaco.
Antonia Sierra, a mulher de Vargas, era vinte e seis anos mais nova que ele. Ao chegar aos quarenta já estava muito gasta, quase não tinha dentes sãos na boca e o seu aguerrido corpo de mulata tinha-se deformado pelo trabalho, pelos partos e abortos; no entanto, conservava ainda o resto da sua arrogância do passado, uma maneira de caminhar de cabeça bem erguida e cintura quebrada, um ressaibo de antiga beleza, um tremendo orgulho que fazia calar qualquer intenção de a lastimar.
Mal lhe chegavam as horas para cumprir o seu dia, porque além de atender os filhos e de se ocupar da horta e das galinhas, ganhava alguns pesos a cozinhar o almoço dos polícias, a lavar roupa dos outros e a limpar a escola. às vezes andava com o corpo cheio de nódoas negras e, mesmo que ninguém perguntasse, toda a água Santa sabia das sovas dadas pelo marido. Apenas Riad Halabí e a professora Inés se atreviam a dar-lhe presentes diretos, procurando desculpas para não a ofender, alguma roupa, alimentos, cadernos e vitaminas para as crianças.
Antonia Sierra teve de suportar muitas humilhações do marido, inclusive a imposição de uma concubina na sua própria casa.
Concha Díaz chegou a Agua Santa a bordo de um dos caminhões da Companhia de Petróleos, desconsolada e lastimável que nem um espectro. O motorista compadeceu-se ao vê-la descalça no caminho, com a trouxa às costas e a barriga de mulher prenhe. Ao atravessar a aldeia, os caminhões paravam no armazém, por isso Riad Halabí foi o primeiro a saber do assunto. Viu-a aparecer à porta e pela maneira como deixou cair o corpo no balcão viu que não estava de passagem, a rapariga vinha para ficar. Era muito jovem, morena e de pequena estatura, com uma mata compacta de cabelo crespo descolorido pelo sol, onde parecia não ter entrado um pente há muito tempo. Como costumava fazer com os visitantes, Riad Halabí ofereceu uma cadeira e um refresco de ananás e dispôs-se a escutar o rosário das suas aventuras ou das suas desgraças, mas a rapariga falava pouco, limitava-se a assoar o nariz com os dedos, os olhos cravados no chão, as lágrimas escorrendo sem parar pelas faces e um chorrilho de censuras saindo-lhe por entre os dentes. Por fim, o árabe conseguiu perceber que ela queria ver Tomás Vargas e mandou-o buscar para vir à taberna. Esperou-o à porta e mal o viu na frente agarrou-o por um braço e fê-lo olhar para a forasteira, sem lhe dar tempo de refazer-se do susto.
- A rapariga diz que o bebé é teu - disse Riad Halabí com aquele tom suave que usava quando estava indignado.
- Isso não se pode provar, turco. Sabe-se sempre quem é a mãe, mas do pai nunca há a certeza - respondeu o outro confundido, mas com ânimo suficiente para esboçar uma careta de picardia que ninguém apreciou.
Desta vez a mulher largou a chorar com força, murmurando que não teria viajado de tão longe se não soubesse quem era o pai.
Riad Halabí perguntou a Vargas se não tinha vergonha, que tinha idade para ser avô da rapariga e se pensava que a aldeia ia fazer vista grossa aos seus pecados estava bem enganado, que julgava ele, mas quando o pranto da jovem aumentou, acrescentou o que todos sabiam que diria.
- Está bem, menina, acalma-te. Podes ficar em minha casa por algum tempo, pelo menos até ao nascimento da criança.
Concha Díaz começou a soluçar com mais força e disse que não viveria em parte alguma, apenas com Tomás Vargas, porque para isso tinha vindo. O ar parou no armazém, fez-se um grande silêncio, apenas se ouviam as ventoinhas no tecto e o soluçar da mulher, sem ninguém se atrever a dizer que o velho era casado e tinha seis catraios. Por fim, Vargas agarrou no corpo da viajante e ajudou-a a pôr-se de pé.
- Muito bem, Conchita, se é isso que queres, não há mais conversas, vamos para minha casa agora mesmo - disse.
Foi assim que Antonia Sierra, ao voltar do trabalho, encontrou outra mulher a descansar na sua rede e pela primeira vez o seu orgulho não lhe conseguiu dissimular os sentimentos. Os seus insultos rolaram pela rua principal e o eco chegou até à praça, entrou em todas as casas, anunciando que Concha Díaz era uma ratazana imunda e que Antonia Sierra lhe faria a vida negra até a fazer voltar à sarjeta donde nunca devia ter saído, que se julgava que os seus filhos iam viver debaixo do mesmo tecto com uma pega ia ter uma grande surpresa, porque ela não era nenhuma palerma e que ao marido mais valia andar com cuidado, porque ela tinha aguentado muito sofrimento e muita decepção, tudo em nome dos filhos, pobres inocentes, mas que estava bem, agora todos iam ver quem era Antonia Sierra. O ódio durou uma semana, ao fim da qual os gritos se tornaram num contínuo murmúrio e perdeu o resto da antiga beleza, já nem tinha a sua maneira de caminhar, arrastava-se como cadela apedrejada. Os vizinhos tentaram explicar-lhe que toda aquela confusão não era culpa de Concha, mas de Vargas, mas ela não estava disposta a ouvir conselhos de moderação ou de justiça.
A vida no rancho daquela família nunca tinha sido agradável, mas com a chegada da concubina tornou-se um tormento sem fim.
Antonia passava as noites encolhida na cama dos filhos, a cuspir maldições, enquanto ao lado roncava o marido, abraçado à rapariga. Mal nascia o Sol, Antonia tinha de levantar-se, preparar o café, amassar as arepas, mandar os garotos para a escola, tratar da horta, cozinhar para os polícias, lavar e engomar. Ocupava-se de todas essas tarefas como um autómato, enquanto de dentro da alma lhe escorria um rosário de amarguras. Como se negava a dar comida ao marido, Concha encarregou-se de o fazer quando a outra saía para não se encontrar com ela ao fogão da cozinha. Era tanto o ódio de Antonia Sierra, que algumas pessoas na aldeia, julgando que ia acabar por matar a sua rival, foram pedir a Riad Halabi e à professora Inês que interviesse antes que fosse tarde.
No entanto, as coisas não se passaram dessa maneira. Ao fim de dois meses a barriga de Concha parecia uma cabaça, as pernas tinham-lhe inchado tanto que estavam a ponto de lhe rebentar as veias e chorava continuamente porque se sentia só e assustada. Tomás Vargas cansou-se de tanta lágrima e decidiu ir a casa só para dormir. já não era necessário que as mulheres fizessem turnos para cozinhar. Concha perdeu o último incentivo para se vestir e ficou estendida na rede a olhar o tecto, sem ânimo nem para coar um café. Antonia ignorou-a totalmente no primeiro dia, mas à noite mandou-lhe um prato de sopa e um copo de leite quente por um dos rapazes, para que não dissessem que ela deixava morrer alguém com fome debaixo do seu tecto. A rotina repetiu-se e, ao fim de poucos dias, Concha levantou-se para comer com os outros.
Antonia fingia não a ver, mas pelo menos deixou de lançar insultos para o ar sempre que a outra passava perto. Pouco a pouco, foi vencida pela pena. Quando viu que a rapariga estava cada vez mais magra, um pobre espanta-pardais com um ventre descomunal e olheiras profundas, começou a matar as galinhas uma a uma para lhe dar canja e, acabadas as aves, fez o que nunca tinha feito até então, foi pedir ajuda a Riad Halabí.
- Tive seis filhos e vários nascimentos malogrados, mas nunca vi ninguém ficar tão doente por estar prenha - explicou ruborizada. - Ela está nos ossos, turco, não consegue engolir a comida, começa logo a vomitar. Não é que me importe, não tenho nada a ver com isso, mas que vou dizer à mãe dela, se ela me morre? Não quero que depois me venham pedir contas.
Riad Halabí levou a doente na camioneta ao hospital e Antonia acompanhou-os. Voltaram com um saquinho de pílulas de diferentes cores e um vestido novo para Concha, porque o dela não lhe passava da cintura. A desgraça da outra mulher forçou Antonia Sierra a reviver passagens da sua juventude, da sua primeira gravidez e das mesmas violências que ela suportara. Desejava, com pesar seu, que o futuro de Concha Díaz não fosse tão negro como o seu. já não lhe tinha ódio, apenas uma calada compaixão e começou a tratá-la, como se fosse uma filha desencaminhada, com uma autoridade brusca que mal conseguia ocultar a ternura. A jovem estava aterrada ao ver as perniciosas transformações do seu corpo, a disformidade que aumentava sem controlo, a vergonha de andar a urinar-se toda de quando em quando e de caminhar como um ganso, o enjoo incontrolável e a vontade de morrer. Nos dias em que acordava muito doente e não podia sair da cama, Antonia escalava as crianças para cuidarem dela enquanto saía para cumprir o seu trabalho a correr e regressar cedo para a atender; mas, noutras ocasiões, Concha acordava mais animada e, quando Antonia voltava extenuada, encontrava a ceia pronta e a casa limpa. A rapariga servia-lhe um café e ficava de pé a seu lado, à espera que ela o bebesse, com um olhar molhado de animal agradecido.
O menino nasceu no hospital da cidade, porque não queria vir ao mundo e tiveram de abrir Concha Díaz para lho tirar.
Antonia ficou com ela oito dias, durante os quais a professora Inês se ocupou dos garotos. As duas mulheres regressaram na camioneta do armazém e toda a água Santa saiu a dar-lhes as boas-vindas. A mãe vinha a sorrir, enquanto Antonia exibia o recém-nascido com uma algazarra de avó, anunciando que seria baptizado com o nome de Riad Vargas Díaz, em justa homenagem ao turco, porque sem a sua ajuda a mãe não teria chegado a tempo à maternidade e, além disso, tinha sido ele quem pagara todas as despesas quando o pai fez ouvidos surdos e fingiu estar mais bêbado que de costume para não desenterrar o seu ouro.
Antes de duas semanas, Tomás Vargas quis exigir a Concha Díaz que voltasse para a sua rede, apesar da mulher ter ainda a costura fresca e uma ligadura de guerra no ventre, mas Antonia Sierra meteu-se pela frente, com os braços em jarra, decidida pela primeira vez na vida a impedir que o velho levasse por diante o seu capricho. O marido esboçou o gesto de tirar o cinturão para lhe dar as correadas do costume, mas ela não o deixou terminar o gesto, caiu-lhe em cima com tal firmeza, que o homem retrocedeu, surpreendido. Esse vacilar perdeu-o, porque então ela soube quem era o mais forte. Entretanto, Concha Díaz, que tinha deixado o filho num canto, levantava uma pesada vasilha de barro, com o propósito evidente de lha partir na cabeça. O homem compreendeu a sua desvantagem e saiu do rancho a dizer blasfêmias.
Toda a água Santa soube do sucedido porque ele próprio o contou às raparigas do prostibulo, que por sua vez disseram que Vargas já não funcionava e que todas as suas bazófias de semeador eram pura farronca sem nenhum fundamento. A partir desse incidente as coisas mudaram. Concha Díaz recompôs-se rapidamente e enquanto Antonia Sierra saía para trabalhar, ela ficava a tomar conta das crianças e das tarefas da horta e da casa. Tomás Vargas engoliu a mágoa e regressou humildemente à sua rede, onde não teve companhia. Aliviava o despeito maltratando os filhos e comentando na taberna que as mulheres, como as mulas, só entendem à paulada, mas em casa não voltou a castigá-las. Nas bebedeiras, apregoava aos quatro ventos as vantagens da bigamia e o padre teve de dedicar vários domingos a rebatê-lo do púlpito para que a ideia não pegasse e fossem para o diabo tantos anos de prédicas à virtude cristã da monogamia.
Em água Santa podia-se tolerar que um homem maltratasse a família, fosse mandrião, desordeiro e não devolvesse o dinheiro emprestado, mas as dívidas de jogo, essas, eram sagradas. Nas lutas de galos, as notas colocavam-se bem dobradas entre os dedos, para que todos as pudessem ver, e, no dominó, nos dados ou nas cartas, punham-se sobre a mesa à esquerda do jogador. às vezes, os camionistas da Companhia de Petróleos paravam para umas rodadas de pôquer e embora não mostrassem o dinheiro, antes de ir embora, pagavam até ao último cêntimo. Aos sábados chegavam os guardas da Penitenciária de Santa Maria para visitar o bordel e jogar na taberna a féria da semana. Nem eles - que eram muito mais bandidos que os presos a seu cargo - se atreviam a jogar se não podiam pagar. Ninguém violava essa regra.
Tomás Vargas não apostava, mas gostava de olhar os jogadores, podia passar horas olhando um dominó, ele era o primeiro a instalar-se nas lutas de galos, e seguia os números da lotaria que anunciavam pela rádio, mesmo que não comprasse nenhum. Estava defendido dessa tentação pelo tamanho da sua avareza. No entanto, quando a férrea cumplicidade de Antonia Sierra e Concha Díaz lhe deitou abaixo, definitivamente, o ímpeto viril, virou-se para o jogo. A princípio apontava quantias mínimas e só os bêbados mais pobres aceitavam sentar-se à mesa com ele, mas como nas cartas teve mais sorte que com as suas mulheres, depressa foi atacado pelo bichinho de dinheiro fácil. Começou a desfazer-se até ao miolo, apesar da sua natureza mesquinha. Na esperança de enriquecer num só golpe de sorte e recuperar ao mesmo tempo - mediante a ilusória projeção desse triunfo - o seu humilhado prestígio de paizinho, começou a aumentar os lances. Em breve se mediam com ele os jogadores mais bravos e os outros faziam roda para seguir as alternativas de cada encontro. Tomás Vargas não punha as notas estendidas sobre a mesa, como era a tradição, mas pagava quando perdia. Em casa, a pobreza agudizou-se e Concha saiu também para trabalhar. As crianças ficaram sozinhas e a professora Inés teve de alimentá-las para que não andassem pela povoação a aprender a mendigar.
As coisas complicaram-se para Tomás Vargas quando aceitou o desafio do tenente e depois de seis horas de jogo lhe ganhou duzentos pesos.
O oficial confiscou o soldo dos subalternos para pagar a derrota. Era um moreno de boa figura com bigode de morsa e a casaca sempre aberta para as raparigas lhe poderem ver o tronco peludo e a sua coleção de correntes de ouro. Ninguém o estimava em água Santa, porque era homem de carácter imprevisível e atribuía-se a autoridade de inventar leis segundo o seu capricho e conveniência. Antes da sua chegada, a prisão era só um par de quartos para passar a noite depois de alguma rixa - nunca houve crimes graves em Agua Santa e os únicos malfeitores eram os presos em trânsito até à Penitenciária de Santa Maria -, mas o tenente encarregou-se de que ninguém passasse pelo armazém sem levar uma golpaça. Graças a ele as pessoas passaram a ter medo da lei. Estava indignado pela perda de duzentos pesos, mas entregou o dinheiro sem refilar e até com certo desprendimento elegante, porque nem ele, com todo o peso do seu poder, se teria levantado da mesa sem pagar.
Tomás Vargas passou dois dias a gabar-se do triunfo, até que o tenente o avisou de que o esperava no sábado para a vingança. Desta vez, a aposta seria de mil pesos, disse com um tom tão peremptório que o outro lembrando-se das palmatoadas recebidas no traseiro não se atreveu a dizer que não. No sábado à tarde a taberna estava cheia de gente. Com o aperto e o calor, o ar tornou-se irrespirável, tiveram de levar a mesa para a rua para que todos pudessem ser testemunhas do jogo.
Nunca se tinha apostado tanto dinheiro em água Santa e para assegurar a Usura do procedimento designaram Riad Halabí. Este começou por que o público se mantivesse a dois passos de distância, para impedir qualquer tramoia, e que o tenente e os outros polícias deixassem as armas no quartel.
- Antes de começar, os jogadores devem pôr o seu dinheiro sobre a mesa - disse o árbitro.
- A minha palavra basta, turco - respondeu o tenente.
- Nesse caso, a minha palavra também chega - acrescentou Tomás.
- Como vão pagar se perderem? - quis saber Riad Halabí.
- Tenho uma casa na capital. Se eu perder, Vargas terá os títulos de propriedade amanhã mesmo.
- Está bem. E tu?
- Eu pago com o ouro que tenho enterrado.
O jogo foi o mais emocionante ocorrido na povoação em muitos anos. Toda a água Santa, até os velhos e as crianças se juntaram na rua. Aí, únicas pessoas ausentes foram Antonia Sierra e Concha Díaz. Nem o tenente nem Tomás Vargas lhes inspiravam qualquer simpatia, tanto fazia quem ganhasse; a diversão consistia em adivinhar as angústias dos dois jogadores e dos que haviam apostado num ou noutro. Tomás Vargas tinha a vantagem de, até então, ter tido sorte com as cartas, mas o tenente tinha a vantagem do sangue-frio e do prestígio de arruaceiro.
Às sete da tarde terminou a partida e de acordo com as normas estabelecidas, Riad Halabí declarou vencedor o tenente. No triunfo, o polícia manteve a mesma calma que demonstrara na derrota, uma semana antes, nem um sorriso trocista, nem uma palavra desmedida, ficou simplesmente sentado na sua cadeira a limpar os dentes com a unha do dedo mindinho.
- Bom, Vargas, chegou a hora de desenterrares o teu tesouro - disse, quando se calou a vozeirada dos mirones.
A pele de Tomás Vargas ficara cor de cinza, tinha a camisa empapada em suor e parecia que o ar não lhe entrava no corpo, lhe ficava entupido na boca. Tentou pôr-se de pé, por duas vezes e foi-se abaixo dos joelhos. Riad Halabí teve de segurá-lo. Por fim, juntou a força para largar a andar em direção à estrada, seguido pelo tenente, os polícias, o árabe, a professora Inês e mais atrás toda a povoação em ruidosa procissão. Andaram uns dois quilômetros e logo Vargas virou à direita, metendo-se pela densidade da vegetação ávida que rodeava água Santa. Não havia carreiro, mas ele abriu passagem sem grandes hesitações entre as árvores gigantescas e os fetos, até chegar à beira de um barranco que mal se via, porque a selva era um biombo impenetrável. Ali parou a multidão, enquanto ele descia com o tenente. Fazia um calor úmido e pesado apesar de faltar pouco para o pôr do Sol.
Tomás Vargas fez sinal que o deixassem sozinho, pôs-se de gatas e, arrastando-se, desapareceu debaixo de uns filodendros de grandes folhas carnudas. O tenente meteu-se pela folhagem agarrou-o pelas canelas e tirou-o para fora aos puxões.
- Que se passa?
- Não está, não está!
- Como não está?
- juro, meu tenente, eu não sei nada, roubaram-mo, roubaram-me o tesouro! - E desatou a chorar como uma viúva, tão desesperado que nem sentia os pontapés que o tenente lhe dava.
- Cabrão! Vais pagar-mas. Eu seja cego, em como mas vais pagar!
Riad Halabí escorregou barranco abaixo e tirou-lho das mãos antes que ele o fizesse em papas de milho. Conseguiu convencer o tenente a que se acalmasse, porque à pancada não resolveriam o assunto, e depois ajudou o velho a subir. Tomás Vargas tinha o esqueleto desconjuntado pelo espanto do sucedido, afogava-se em soluços e eram tantos os seus balbúcios e desmaios que o árabe teve de o levar, quase em braços todo o caminho de volta, até o deixar definitivamente no rancho. à porta estavam Antonia Sierra e Concha Díaz sentadas em duas cadeiras de palha, tomando café e olhando o cair da noite. Não fizeram nenhum sinal de consternação ao saber do sucedido e continuaram a beber o café, impávidas e serenas.
Tomás Vargas esteve com febre mais de uma semana, delirando com moedas de ouro e cartas marcadas, mas era de natureza firme e em vez de morrer de fadiga, como todos julgavam, recuperou a saúde. Quando se pôde levantar não se atreveu a sair durante vários dias mas, finalmente, o seu amor pela pândega pôde mais que a prudência, pegou no chapéu de pelo de guama e, ainda a tremer e assustado, foi para a taberna. Não regressou nessa noite e dois dias depois alguém veio com a notícia de que ele estava esmagado no mesmo barranco onde tinha escondido o tesouro. Encontraram-no aberto de alto a baixo à catanada, como uma rês, como todos saberiam que acabaria um dia, mais tarde ou mais cedo.
Antonia Sierra e Concha Díaz enterraram-no sem grandes cenas de desgosto e sem mais cortejo do que Riad Halabí e a professora Inês, que foram para as acompanhar a elas e não para render homenagem póstuma a quem tinham desprezado em vida. As duas mulheres continuaram a viver juntas, dispostas a ajudarem-se mutuamente na educação dos filhos e nas dificuldades do dia a dia. Pouco depois do funeral, compraram galinhas, coelhos e porcos, foram de autocarro à cidade e voltaram com roupa para toda a família. Nesse ano consertaram o rancho com tábuas novas, acrescentaram-lhe dois quartos, pintaram-no de azul e instalaram depois uma cozinha de gás, onde começaram uma Indústria de culinária para vender ao domicílio. Todos os dias, ao meio-dia, partiam com as crianças a distribuir as suas comidas no quartel, na escola, no correio e se sobrava alguma coisa deixavam-na no armazém, para que Riad Halabí a oferecesse aos camionistas. Assim saíram da miséria e entraram no caminho da prosperidade.
7 - Se me tocasses o coração
Amadeo Peralta cresceu no bando de seu pai e tornou-se um arruaceiro, como todos os homens da família. O pai achava que os estudos são para os maricas, não são precisos livros para triunfar na vida, mas colhões e astúcia, dizia ele, por isso formou os filhos na rudeza. Com o tempo, no entanto, compreendeu que o mundo estava a mudar rapidamente e que era preciso consolidar os negócios em bases mais estáveis.
A época da pilhagem desenfreada tinha sido substituída pela corrupção e pelo roubo dissimulado, era tempo de administrar a riqueza com critério moderno e melhorar a sua imagem. Reuniu os filhos e impôs-lhes a tarefa de fazer amizade com pessoas influentes e aprender assuntos legais, para continuarem a prosperar sem perigo, impunemente. Também lhes pediu para procurarem noivas entre os apelidos mais antigos da região, a ver se conseguiam lavar o nome dos Peralta de tanto salpico de barro e sangue. Por essa altura, Amadeo completara trinta e um anos e tinha muito arreigado o hábito de seduzir raparigas para logo as abandonar. Por isso não gostou nada da ideia do matrimónio, mas não se atreveu a desobedecer ao pai. Começou a cortejar a filha de um fazendeiro cuja família vivia no mesmo lugar há seis gerações. Apesar da má fama do pretendente, ela aceitou-o, porque era muito pouco bonita e receava ficar solteira. Então, iniciaram ambos um desses chatos noivados de província. Incomodado dentro do seu fato de linho branco de botões lustrosos, Amadeo visitava-a todos os dias sob o olhar atento da futura sogra ou de alguma tia, e enquanto a jovem servia café e bolos de goiaba, ele olhava o relógio calculando o momento oportuno de se despedir.
Poucas semanas antes da boda, Amadeo Peralta teve de fazer uma viagem de negócios pela província. Assim, chegou a água Santa, um desses lugares onde ninguém fica, e cujo nome os viajantes raramente recordam. Passava por uma rua estreita, à hora da sesta, amaldiçoando o calor e aquele cheiro de doce de marmelada de manga que tornavam o ar pesado, quando ouviu um som cristalino de água a correr por entre pedras, que vinha de uma casa modesta, com a pintura descascada pelo sol e pela chuva, como quase todas por ali. Através da gelosia, conseguiu ver um saguão de ladrilhos escuros e paredes caiadas, ao fundo um pátio e, mais à frente, a visão surpreendente de uma rapariga sentada no chão, de pernas cruzadas, com um saltério de madeira vermelha sobre os joelhos. Ficou a observá-la, um bom bocado.
- Vem menina - chamou-a ele finalmente. Ela levantou o rosto e apesar da distância, ele distinguiu os olhos assustados e o sorriso incerto num rosto ainda infantil. - Vem comigo - ordenou, implorou Amadeo com voz seca.
Ela hesitou. As últimas notas ficaram suspensas no ar do pátio, como uma pergunta. Peralta chamou-a de novo, ela pôs-se de pé e aproximou-se, ele meteu o braço por entre as tábuas da persiana, correu o ferrolho, abriu a porta, agarrou-a com a mão, enquanto lhe recitava todo o seu repertório de gala, jurando que a tinha visto em sonhos, que a procurara toda a vida, que não a podia deixar ir, que era a mulher destinada para ele, e tudo isto podia ele ter omitido porque a moça era simples de espírito e não compreendeu o sentido das suas palavras, embora talvez o tom da voz a tenha seduzido.
Hortensia acabara de fazer quinze anos, tinha o corpo pronto para o primeiro abraço, embora não soubesse nem pudesse dar um nome a essas inquietações e tremores. Para ele foi tão fácil levá-la até ao carro e conduzi-la a um descampado, que já a tinha esquecido por completo uma hora depois. Nem pôde recordá-la quando ela lhe apareceu em casa, subitamente, uma semana depois, a cento e quarenta quilômetros de distância, com um vestido de algodão amarelo e alpargatas de lona e um saltério debaixo do braço, incendiada pela febre do amor.
Quarenta e sete anos mais tarde, quando Hortensia foi tirada do fosso onde tinha permanecido sepultada e os jornalistas viajaram de todas as partes do país para a fotografar, nem ela própria sabia já o seu nome nem como chegara até ali.
- Porque é que a teve fechada como um animal selvagem? - perguntaram os repórteres a Amadeo Peralta.
- Porque me apeteceu - respondeu calmamente. Por essa altura já tinha oitenta anos e estava tão lúcido como sempre, mas não compreendia aquele alvoroço tardio por algo ocorrido há tanto tempo. Não estava disposto a dar explicações. Era homem de palavra autoritária, patriarca e bisavô, ninguém se atrevia a olhá-lo nos olhos e até os padres o saudavam de cabeça inclinada. Na sua longa vida aumentou a fortuna herdada do pai, apoderou-se de todas as terras desde as ruínas do forte espanhol até aos limites do Estado e lançou-se depois numa carreira política que o tornou o cacique mais poderoso da zona. Casou-se com a filha feia do fazendeiro, dela teve nove descendentes legítimos e com outras mulheres engendrou um número impreciso de bastardos, sem guardar recordações de nenhuma porque tinha o coração definitivamente mutilado para o amor. A única que não pôde esquecer totalmente foi Hortensia, porque ela lhe ficou gravada na consciência como um pesadelo persistente. Depois do rápido encontro com ela no meio das ervas de um terreno baldio, regressou a casa, ao trabalho e à austera noiva de família respeitável. Foi Hortensia quem o procurou até o encontrar, foi ela quem se lhe atravessou na frente e se lhe agarrou à camisa com uma aterradora submissão de escrava. Grande encrenca, pensou então, eu quase a casar-me com pompa e festança e aparece-me agora pela frente esta rapariga desengonçada. Quis desembaraçar-se dela, mas ao vê-la com o vestido amarelo e os olhos suplicantes pareceu-lhe um desperdício não aproveitar a oportunidade, por isso decidiu escondê-la enquanto não lhe ocorria outra solução.
E assim, quase por descuido, Hortensia foi parar à cave do antigo engenho de açúcar dos Peralta, onde permaneceu enterrada toda a vida.
Era um recinto amplo, úmido, escuro, asfixiante no Verão e frio em algumas noites da época seca, mobilado com meia dúzia de tarecos e um enxergão. Amadeo Peralta não se deu ao trabalho de a acomodar melhor, embora algumas vezes tivesse acarinhado a fantasia de fazer da rapariga uma concubin a de contos orientais, envolta em tules leves e rodeada de plumas de pavão real, sanefas de brocado, candeeiros de vidros pintados, móveis dourados de pernas torcidas e alcatifas peludas onde ele pudesse caminhar descalço. Talvez o tivesse feito se ela lhe houvesse recordado as suas promessas, mas Hortensia era como um pássaro noturno, um desses noitibós cegos que habitam o fundo das covas, só necessitava um pouco de alimento e água. O vestido amarelo apodreceu-lhe no corpo e acabou nua.
- Ele gosta de mim, sempre gostou - disse quando os vizinhos a foram buscar. Em tantos anos de reclusão tinha perdido o uso das palavras, a voz saía-lhe aos solavancos, como um ronco de moribundo.
Nas primeiras semanas, Amadeo passou muito tempo na cave com ela, saciando um apetite que julgou inesgotável. Receando que a descobrissem e receoso até dos seus próprios olhos, não quis expô-la à luz natural e só deixou entrar um ténue raio através da claraboia de ventilação. No escuro possuíram-se na maior desordem dos sentidos, com a pele ardente e o coração feito caranguejo esfomeado. Ali os cheiros e os sabores adquiriam uma qualidade extrema. Ao tocarem-se às escuras conseguiam penetrar na essência um do outro e mergulhar nas intenções mais secretas. Naquele lugar, as suas vozes soavam com um eco repetido, as paredes devolviam-lhe, ampliados, os murmúrios e os beijos. A cave tornou-se um frasco fechado onde rebolavam como gémeos travessos nadando em águas amnióticas, duas crianças túmidas e atordoadas. Durante algum tempo perderam-se numa intimidade absoluta que confundiram com o amor.
Quando Hortensia dormia, o amante saía para ir buscar qualquer coisa para comer e antes que ela despertasse regressava para a abraçar de novo com brios renovados. Deviam ter-se amado assim até morrer, derrotados pelo desejo, deviam ter-se devorado um ao outro ou arder em dupla tocha; mas nada disso aconteceu. Pelo contrário, sucedeu o mais previsível e comezinho, o menos grandioso. Em menos de um mês, Amadeo Peralta cansou-se das brincadeiras que já começavam a repetir-se, sentiu a humidade a apanhar-lhe as articulações e pôs-se a pensar em tudo o que estava do outro lado daquele antro. Era altura de voltar ao mundo dos vivos e retomar as rédeas do seu destino.
- Espera-me aqui, menina. Vou por aí fora, tornar-me rico. Vou trazer-te presentes, vestidos e joias de rainha - disse-lhe ao despedir-se.
- Quero filhos - disse Hortensia.
- Filhos não, mas terás bonecas. Nos meses seguintes Peralta esqueceu-se dos vestidos, das joias e das bonecas. Visitava Hortensia sempre que combinavam, nem sempre para fazer amor, por vezes só para a ouvir tocar alguma melodia antiga no saltério, gostava de a ver inclinada sobre o instrumento dedilhando as cordas. às vezes tinha tanta pressa que nem conseguia trocar uma só palavra com ela, enchia-lhe os cântaros de água, deixava-lhe um saco de provisões e partia. Quando se esqueceu de o fazer por nove dias e a encontrou moribunda, compreendeu a necessidade de arranjar alguém que o ajudasse a cuidar da sua prisioneira, porque a família, as viagens, os negócios e os compromissos sociais mantinham-no muito ocupado. uma índia silenciosa serviu-lhe para esse fim. Ela guardava a chave do cadeado, entrava regularmente para limpar o calabouço e raspar os fungos que cresciam em todo o corpo de Hortensia como uma flora delicada e pálida, quase sempre invisível a olho nu, cheirando a terra revolvida e a coisa abandonada.
- Não teve pena dessa pobre mulher? - perguntaram à índia quando a levaram também presa, acusada de cumplicidade no sequestro, mas ela não respondeu, limitou-se a olhar de frente com olhos impávidos e a dar uma cuspidela negra de tabaco.
Não, não tivera pena porque acreditou que a outra tinha vocação de escrava e que por isso mesmo era feliz em sê-lo, que era idiota de nascença e como tantos da sua condição, melhor estaria fechada do que exposta aos enganos e perigos da rua. Hortensia não contribuiu para mudar a opinião, que a carcereira tinha dela, nunca manifestou qualquer curiosidade pelo mundo, não quis sair para respirar ar limpo nem se queixava de nada. Nem parecia aborrecida, a sua mente estava detida nalgum momento da infância e a solidão acabou por perturbá-la de todo. Na realidade foi-se tornando numa pessoa subterrânea. Naquele túmulo agudizaram-se-lhe os sentidos, aprendeu a ver o invisível, foi rodeada por espíritos alucinantes que a levavam pela mão para outros universos.
Enquanto o seu corpo permanecia encolhido num canto, ela viajava pelo espaço sideral como uma partícula mensageira, vivendo num território escuro, para lá da razão. Se tivesse tido um espelho para se ver teria tido medo do seu próprio aspecto, mas como não podia ver-se não percebeu o seu desfazer-se, nem soube das escamas que lhe saíram da pele, dos bichos-da-seda que fizeram ninho no seu longo cabelo feito estopa, das nuvens de chumbo que lhe cobriram os olhos já mortos de tanto espreitar a penumbra. Não sentiu como lhe cresciam as orelhas para captar os ruídos exteriores, mesmo os mais ténues e longínquos, como o riso das crianças no recreio da escola, a campainha do vendedor de gelados, os pássaros a voar, o murmúrio do rio. Nem deu conta que as suas pernas, antes bonitas e firmes, se tinham entortado pela necessidade de estar quieta e de se arrastar, nem que as unhas dos pés lhe cresceram como cascos de animal, e que os ossos se lhe tinham transformado em tubos de vidro e o ventre mirrara e lhe crescera uma corcova. Só as mãos mantiveram a sua forma e tamanho, ocupadas sempre no exercício do saltério, embora os dedos não recordassem já as melodias aprendidas e, pelo contrário, arrancassem do instrumento o pranto que não lhe saía do peito. De longe, Hortensia parecia um macaco de feira, de perto inspirava uma infinita lástima. Não tinha consciência alguma dessas transformações malignas, na sua memória guardava intacta a imagem de si própria, continuava a ser a mesma rapariga que se viu reflectida pela última vez no vidro da janela do automóvel de Amadeo Peralta, no dia em que ele a conduziu à sua guarida. julgava-se tão bonita como sempre e continuou agindo como se o fosse. Deste modo a recordação da sua beleza ficou encolhida no seu interior e quem quer que se aproximasse o suficiente podia vislumbrá-la debaixo do seu aspecto exterior de anão pré-histórico.
Entretanto, Amadeo Peralta, rico e temido, estendia por toda a região a sede do seu poder. Aos domingos sentava-se à cabeceira de uma grande mesa, com os filhos e netos varões, os seus sequazes e cúmplices, e alguns convidados especiais, políticos e chefes militares a quem tratava com uma cordialidade ruidosa, mas não isenta da altivez necessária para se lembrarem bem de quem era o senhor. Nas suas costas falava-se das suas vítimas, de quantas deixara na ruína ou fizera desaparecer, dos subornos às autoridades, de que metade da sua fortuna provinha do contrabando; mas ninguém estava disposto a procurar provas. Diziam também que Peralta mantinha uma mulher prisioneira numa cave. Esta parte da sua fama negra repetia-se com maior certeza que a dos seus negócios lícitos.
Na verdade, muitos sabiam-no e com o tempo isso tornou-se murmúrio.
Numa tarde de muito calor, três crianças fugiram da escola para tomar banho no rio. Passaram umas duas horas chapinhando no lodo da Margem e depois foram descansar perto do antigo engenho de açúcar dos Peralta, fechado desde há gerações, quando a cana deixou de ser rentável. O lugar tinha fama de assombrado, diziam que se ouviam ruídos de demónios e muitos tinham visto por ali uma bruxa desgrenhada invocando as almas dos escravos mortos. Exaltados pela aventura, os rapazes entraram na propriedade e aproximaram-se do edifício da fábrica. Atreveram-se a entrar pelas ruínas, percorreram as amplas divisões de grandes paredes de adobe e vigas roídas pela formiga, saltaram por cima da erva que crescia no chão, dos montes de lixo e merda de cão, das telhas apodrecidas e ninhos de cobras. Encorajando-se à força de dichotes, empurrando-se, chegaram até à sala da moagem, uma divisão enorme aberta para o céu, com restos de máquinas despedaçadas, onde a chuva e o sol tinham criado um jardim impossível e onde julgavam perceber um rasto penetrante de açúcar e suor. Quando começavam a perder o susto, ouviram com toda a clareza um canto monstruoso. Tremendo, quiseram voltar atrás, mas a atracção do horror pôde mais que o medo e ficaram agachados escutando até à última nota. Pouco a pouco conseguiram vencer a imobilidade, sacudiram o espanto e começaram à procura daqueles estranhos sons tão diferentes de qualquer música conhecida. Deram com um pequeno alçapão rente ao chão, fechado com um cadeado que não puderam abrir. Limparam a prancha de madeira que fechava a entrada e um indescritível cheiro a fera enjaulada bateu-lhes na cara. Chamaram, mas ninguém respondeu, só ouviram, do outro lado, uma surda respiração ofegante.
Correram a avisar, aos gritos, que tinham descoberto a porta do Inferno.
O barulho das crianças não pôde ser calado e foi assim que os vizinhos comprovaram finalmente o que suspeitavam desde há décadas. Primeiro chegaram as mães atrás dos filhos, a espreitar pelas ranhuras do alçapão, e elas ouviram também as notas terríveis do saltério, muito diferentes da melodia banal que atraíra Amadeo Peralta ao parar numa ruela de água Santa para enxugar o suor da testa. Atrás delas acudiu um tropel de curiosos e, por último, quando já se tinha juntado uma multidão, apareceram os polícias e os bombeiros, que fizeram saltar a porta à machadada, e se meteram no buraco com as suas lanternas e ferramentas de incêndio. Na cova encontraram um ser nu, com a pele flácida caindo em pregas pálidas, que arrastava madeixas cinzentas pelo chão e que gemia aterrorizada pelo ruído e pela luz. Era Hortensia, brilhando com a fosforescência de madrepérola sob as lanternas implacáveis dos bombeiros, quase cega, com os dentes gastos e as pernas tão débeis que quase não podia ter-se em pé. O único sinal da sua origem humana era um velho saltério apertado contra o peito.
A notícia produziu indignação em todo o país. Nos ecrãs de televisão e nos jornais apareceu a mulher tirada do buraco onde passou a vida, mal coberta por uma manta que alguém lhe pôs nos ombros. A indiferença que, durante quase meio século, rodeou a prisioneira, tornou-se em poucas horas em paixão para a vingar e socorrer. Os vizinhos improvisaram piquetes para linchar Amadeo Peralta, atacaram a sua casa, puxaram-no de rastos e se a guarda não chega a tempo para lho tirarem das mãos, tinham-no despedaçado na praça. Para calar a culpa de a ter ignorado durante tanto tempo, toda a gente quis ocupar-se de Hortensia. Reuniu-se dinheiro para lhe dar uma pensão, juntaram-se toneladas de roupa e medicamentos de que ela não necessitava e várias organizações de beneficência trataram de lhe raspar a imundície, cortar-lhe o cabelo e vesti-la dos pés à cabeça, até fazer dela uma anciã vulgar. As freiras emprestaram-lhe uma cama no asilo de indigentes e durante meses tiveram-na amarrada para que não fugisse novamente para a cave, até que por fim se acostumou à luz do dia e se resignou a viver com outros seres humanos.
Aproveitando o furor público atiçado pela imprensa, os numerosos inimigos de Amadeo Peralta reuniram, finalmente, forças para se lançarem atrás dele. As autoridades, que durante anos ampararam os seus abusos, caíram-lhe em cima com o garrote da lei. A notícia ocupou a atenção de todos durante o tempo suficiente para levar o velho caudilho à prisão, mas logo se foi esfumando até desaparecer de todo. Repudiado pelos seus familiares e amigos, convertido em símbolo de tudo o que havia de abominável e abjecto, hostilizado pelos guardas e pelos seus companheiros de infortúnio, esteve na prisão até que a morte foi ter com ele. Permanecia na cela, sem nunca sair ao pátio com os outros presos. Daí podia ouvir os ruídos da rua.
Todos os dias, às dez da manhã, Hortensia caminhava com o seu passo vacilante até à penitenciária e entregava ao vigilante da porta uma marmita quente para o preso.
- Ele quase nunca me deixou com fome - dizia ao porteiro em tom de desculpa. Depois sentava-se na rua a tocar o saltério, arrancando-lhe gemidos de agonia impossíveis de suportar. Na esperança de a distrair e fazê-la calar, alguns transeuntes davam-lhe uma moeda.
Encolhido no outro lado dos muros, Amadeo Peralta escutava esse som que parecia vir do fundo da terra e lhe atravessava os nervos. Essa censura diária devia significar qualquer coisa, mas não podia recordar. às vezes sentia uns rebates de culpa, mas logo a seguir a memória faltava-lhe e as imagens do passado desapareciam numa névoa densa. Não sabia por que razão estava naquela tumba e, a pouco e pouco, esqueceu também o mundo da luz, abandonando-se à desdita.
8 - Presente para uma noiva
Horacio Fortunato tinha chegado aos quarenta e seis anos quando entrou na sua vida a judia esquálida que quase lhe mudou os hábitos de hnpostor e lhe acabou com a fanfarronice.
Era arraçada de gente de circo, desses que nascem com ossos de borracha e habilidade natural para dar saltos mortais e que, na idade em que outras pessoas se arrastam como bichos, se penduram no trapézio de cabeça para baixo e limpam os dentes ao leão. Antes de seu pai o tornar numa empresa séria, em vez da palhaçada que tinha sido até então, o Circo Fortunato passou por mais dificuldades que glórias. Nalgumas épocas de catástrofes ou desordem, a companhia reduzia-se a dois ou três membros do clã vagueando pelos caminhos numa carroça desconjuntada e uma barraca esburacada que montavam em aldeias miseráveis. O avô de Horacio aguentou sozinho o peso de todo o espetáculo durante anos; andava na corda bamba, fazia malabarismos com tochas a arder, engolia sabres toledanos, tirava de um chapéu alto tanto laranjas como serpentes e dançava um gracioso minuete com a sua única companheira, uma macaca vestida com saia de balão e chapéu de plumas. Mas o avô conseguiu vencer o infortúnio e enquanto muitos outros circos morreram vencidos por outras diversões modernas, ele salvou o seu e no fim da vida pôde retirar-se para o Sul do continente para cultivar uma horta de espargos e morangos, deixando uma empresa sem dívidas ao filho Fortunato.
A este homem faltava a humildade do pai, não era inclinado para os equilíbrios na corda ou para as piruetas com um chimpanzé, mas em contrapartida era dotado de uma firme prudência de comerciante. Sob a sua direção o circo cresceu de tamanho e prestígio, até se transformar no maior do país.
Três barracas monumentais pintadas com listas substituíram a modesta tenda de outros tempos, jaulas diversas guardavam um jardim zoológico ambulante de feras amestradas, e outros carros de fantasia transportavam os artistas, incluindo o único anão hermafrodita e ventríloquo da história. Uma réplica exata da caravela de Cristóvão Colombo transportada sobre rodas completava o Grande Circo Internacional Fortunato. Esta enorme caravana já não navegava à deriva, como antes o fizera o avô, mas ia em linha recta pelas estradas principais desde o rio Grande até ao estreito de Magalhães, parando só nas grandes cidades, onde entrava com tal estardalhaço de tambores, elefantes e palhaços, com a caravela à cabeça, como uma prodigiosa recordação da conquista, que toda a gente ficava a saber que o circo tinha chegado.
Fortunato casou com uma trapezista e dela teve um filho, a quem chamaram Horacio. A mulher ficou numa terra pelo caminho, decidida a tornar-se independente do marido e manter-se com o seu ofício incerto, deixando o menino com o pai. Dela ficou uma vaga recordação na cabeça do filho, que não conseguia separar a imagem da mãe das inúmeras acrobatas que conheceu na vida. Quando ele tinha dez anos, o pai casou com outra artista de circo, desta vez uma cavaleira capaz de equilibrar-se de cabeça sobre um animal a galope ou de saltar de uma garupa para outra com olhos vendados. Era muito bonita. Por mais água, sabão e perfumes que usasse, não podia deixar de ter um rasto de cheiro a cavalo, um aroma seco de suor e esforço. No seu magnífico regaço o pequeno Horacio, envolvido nesse cheiro único, encontrava consolo na ausência da mãe. Mas, com o tempo, a cavaleira também partiu sem se despedir. Na idade madura, Fortunato casou em terceiras núpcias com uma suíça que andava a conhecer a América num autocarro de turistas. Estava cansado da sua existência de beduíno e sentia-se velho para novos sobressaltos, de modo que quando ela lhe pediu não teve nem o menor inconveniente em trocar o circo por um destino sedentário. Acabou instalado numa quinta nos Alpes, entre cerros e bosques bucólicos. O seu filho Horacio, que já tinha vinte e um anos, ficou a tomar conta da empresa.
Horacio crescera na incerteza de mudar de lugar todos os dias, dormir sempre sobre rodas e viver debaixo de uma barraca, mas sentia-se contente com a sua sorte. Não invejava de maneira alguma as outras crianças que iam de uniforme cinzento para a escola e tinham os seus destinos traçados já antes de nascer. Pelo contrário, ele sentia-se poderoso e livre. Conhecia todos os segredos do circo, e com a mesma atitude de desenfado limpava os excrementos das feras ou baloiçava-se a cinquenta metros de altura vestido de hussardo, seduzindo o público com o seu sorriso de delfim. Se em determinada altura teve saudades de alguma estabilidade, não o admitiu, nem a dormir. A experiência de ter sido abandonado primeiro pela mãe e logo depois pela madrasta, fê-lo desconfiar das mulheres, sobretudo, mas não chegou a tornar-se cínico, porque herdara do avô um coração sentimental. Tinha um imenso talento circense, mas mais do que a arte o que lhe interessava era o aspecto comercial do negócio. Desde pequeno quis ser rico, com a ingênua Intenção de conseguir com dinheiro a segurança o que não obtivera na família.
Multiplicou os tentáculos da empresa comprando uma cadeia de estádios de boxe em várias capitais. Do boxe passou naturalmente à luta livre e como era homem de imaginação brincalhona, transformou esse desporto grosseiro num espetáculo dramático. Foram iniciativas suas a Múmia, que se apresentava no ringue dentro de um sarcófago egípcio; Tarzan cobrindo as suas vergonhas com uma pele de tigre tão pequena que a cada salto do lutador o público retinha a respiração à espera de alguma revelação; o Anjo que apostava a sua cabeleira de ouro e todas as noites a perdia sob a tesoura do feroz Kuramoto - um índio mapuche disfarçado de samurai - para reaparecer no dia seguinte com os seus caracóis intactos, prova irrefutável da sua condição divina. Estas e outras aventuras comerciais, assim como as suas aparições públicas com um par de guarda-costas, cujo papel consistia em intimidar os seus competidores e picar a curiosidade das mulheres, deram-lhe um prestígio de homem mau, que celebrava com grande regozijo. Levava boa vida, viajava pelo mundo fora, assinando contratos e procurando monstros, aparecia em clubes e casinos, tinha um palácio de cristal na Califórnia e um rancho no lucatão, mas vivia a maior parte do ano em hotéis de luxo.
Desfrutava da companhia de loiras de aluguer. Escolhia-as suaves e de seios generosos, como homenagem à recordação da sua madrasta, mas não se afligia demasiado com os assuntos amorosos e quando o avô lhe pedia que se casasse e desse filhos ao mundo para que o apelido dos Fortunato não desaparecesse sem herdeiro, ele respondia que nunca subiria ao patíbulo matrimonial, nem demente. Era um moreno espadaúdo com uma melena puxada para trás, olhos travessos e uma voz autoritária, que acentuava a sua alegre vulgaridade. Preocupava-se com a elegância; e comprava roupa de duque, mas os seus fatos eram um bocado espaventosos, as gravatas algo audazes, o rubi do anel demasiado ostensivo, a sua fragrância muito penetrante. Tinha um coração de um domador de leões e nenhum alfaiate inglês conseguia disfarçar isso.
Este homem, que passara boa parte da sua existência a perturbar o ar com o seu esbanjamento, cruzou-se numa terça-feira de Março com Patricia Zinimerman e acabou-se-lhe assim a inconsequência do espírito e a claridade do pensamento. Estava no único restaurante daquela cidade onde ainda hoje não deixam entrar negros, com quatro compinchas e uma diva que pensava levar às Baamas por uma semana, quando Patricia entrou no salão de braço dado com o marido, vestida de seda e adornada com alguns daqueles diamantes que fizeram célebre a firma Zinimerman e C.a. Nada mais diferente da sua inesquecível madrasta a cheirar a suor de cavalos ou das loiras aprazíveis, do que aquela mulher. Viu-a avançar, pequena, fina, os ossos do decote à vista e o cabelo castanho agarrado num carrapito severo, e sentiu os joelhos pesados e um ardor insuportável no peito. Ele preferia as fêmeas simples e bem-dispostas para a farra e àquela mulher tinha de a olhar de perto para lhe avaliar as virtudes, e ainda assim só seriam visíveis para um olho treinado em apreciar subtilezas, o que não era o caso de Horacio Fortunato. Se a vidente do seu circo tivesse consultado a bola de cristal para lhe profetizar que se iria enamorar à primeira vista por uma aristocrata quarentona e altiva, teria rido de bom grado, mas disso mesmo se lembrou ao vê-la avançar na sua direção como a sombra de alguma antiga imperatriz viúva, no seu vestido escuro e com as luzes de todos aqueles diamantes a brilhar no pescoço.
Patricia passou a seu lado e durante um momento parou em frente daquele gigante com o guardanapo pendurado do colete e um bocado de molho ao canto da boca. Horacio Fortunato conseguiu sentir-lhe o perfume e apreciar o seu perfil aquilino, e esqueceu-se completamente da diva, dos guarda-costas, dos negócios, de todos os propósitos da sua vida e decidiu com toda a seriedade arrebatar aquela mulher ao joalheiro para a amar da melhor maneira possível. Pôs a cadeira de lado e esquecendo os seus convidados começou a medir a distância que o separava dela, enquanto Patricia Zimmerman perguntava a si própria se aquele desconhecido não estaria a examinar as suas joias com algum desígnio desleal.
Naquela mesma noite chegou à residência dos Zimmerman um ramo descomunal de orquídeas. Patricia olhou o cartão, um rectângulo de cor sépia com um nome de novela escrito em arabescos dourados. De péssimo gosto, disse para si, adivinhando que se tratava do tipo aperaltado do restaurante e ordenou que pusessem o presente na rua, esperando que o remetente andasse rondando a casa e desse pelo paradeiro das flores. No dia seguinte, levaram uma caixa de vidro com uma só rosa, perfeita, sem cartão de visita. O mordomo também a pôs no lixo. No resto da semana mandaram ramos diversos: uma cesta com flores silvestres num leito de alfazema, uma pirâmide de cravos brancos numa jarra de prata, uma dezena de túlipas negras importadas da Holanda e outras variedades impossíveis de encontrar naquela terra quente. Todos tiveram o mesmo destino do primeiro, mas isso não desanimou o galã cujos olhares se tornaram tão insuportáveis que Patricia Zimmerman não se atrevia a atender o telefone com medo de lhe ouvir a voz a sussurrar indecências, como lhe aconteceu naquela mesma terça-feira às duas da madrugada. Devolvia-lhe as cartas fechadas. Deixou de sair porque encontrava Fortunato em lugares inesperados: observando-a do camarote vizinho na ópera, na rua, disposto a abrir-lhe a porta do carro antes que o seu motorista esboçasse o gesto de o fazer, materializando-se como uma ilusão num ascensor ou numa escadaria. Estava prisioneira em casa, assustada. Há-de passar, há-de passar, repetia para si mesma, mas Fortunato não se dissipou como um sonho mau. Continuava ali, do outro lado das paredes, refolegando.
A mulher pensou chamar a Polícia ou recorrer ao marido, mas o horror ao escândalo disso a impediu. Uma manhã estava à espera do correio, quando o mordomo lhe anunciou a visita do presidente da empresa Fortunato e Filhos.
- Em minha própria casa, como se atreve? - murmurou Patricia com o coração aos saltos. Teve de deitar mão da disciplina implacável adquirida em tantos anos de actuar em salões, para disfarçar o tremor das mãos e da voz. Por alguns momentos teve a tentação de enfrentar aquele demente de uma vez para sempre, mas compreendeu que lhe faltariam as forças, sentia-se derrotada antes de o ver.
- Diga-lhe que não estou. Mostre-lhe a porta e avise os empregados que esse cavalheiro não é bem-vindo nesta casa - ordenou.
No dia seguinte não tendo flores exóticas ao pequeno-almoço, Patricia pensou com um suspiro de alívio ou de despeito, que o homem compreendera, finalmente, a sua mensagem. Naquela manhã, sentindo-se livre pela primeira vez na semana, foi jogar ténis e ao salão de beleza. Regressou às duas da tarde com um novo corte de cabelo e uma forte dor de cabeça. Ao entrar, viu sobre a mesa do vestíbulo um estojo de veludo roxo, com a marca Zimmerman impressa em letras douradas. Abriu-o um pouco distraída, imaginando que o marido o deixara ali, e encontrou um colar de esmeraldas acompanhado de um daqueles rebuscados cartões de visita cor de sépia, que havia aprendido a conhecer e a detestar. A dor de cabeça transformou-se-lhe em pânico.
Aquele aventureiro parecia disposto a arruinar-lhe a existência, não só comprava a seu marido uma joia impossível de disfarçar mas, além disso, enviava-a com toda a desfaçatez à sua própria casa. Desta vez não era possível deitar o presente para o lixo como os ramos de flores recebidos até então. Com o estojo apertado contra o peito fechou-se no seu escritório. Meia hora depois, chamou o motorista e mandou-o entregar um embrulho na mesma direção para onde tinha devolvido várias cartas. Ao separar-se da joia não sentiu qualquer alívio, pelo contrário, tinha a impressão de afundar-se num pântano.
Mas nessa altura também Horacio Fortunato caminhava por um lodaçal, sem avançar nem um passo, dando voltas ao acaso.
Nunca tinha precisado de tanto tempo e dinheiro para cortejar uma mulher, embora também fosse certo, admitia ele, que até então todas tinham sido diferentes daquela. Sentia-se ridículo pela primeira vez na sua vida de saltimbanco, não podia continuar assim por muito tempo, a sua saúde de touro começava a ressentir-se, dormia com sobressaltos, o ar acabava-lhe no peito, o coração quase parava, sentia ardor no estômago e zumbidos nas têmporas. Os seus negócios também sofriam o impacte do seu mal de amor, tomava decisões precipitadas e perdia dinheiro. Porra, já não sei quem sou, nem onde estou.
Maldita seja ela, resmungava suando, mas nem por um momento considerou a possibilidade de abandonar a caçada.
Com o estojo roxo de nove nas mãos, caído no cadeirão do hotel onde se hospedava, Fortunato lembrou-se do avô.
Raramente pensava no pai, mas amiúde vinha à sua memória esse avô formidável que aos noventa e tantos anos ainda cultivava as suas hortaliças. Pegou no telefone e pediu uma chamada de longa distância.
O velho Fortunato estava quase surdo e nem podia assimilar o mecanismo daquele aparelho demoníaco que lhe trazia vozes do outro extremo do planeta, mas a idade avançada não lhe tinha roubado a lucidez. Escutou o melhor que pôde o triste relato do neto, sem o interromper até ao fim.
- De maneira que essa raposa dá-se ao luxo de gozar com o meu rapaz, hem?
- Nem sequer me olha, avô. É rica, bela, nobre, tem tudo.
- É isso... e também tem marido.
- Também, mas isso tanto faz. Se pelo menos me deixasse falar-lhe!
- Falar-lhe? Para quê? Não há nada que dizer a uma mulher como essa, filho.
- Ofereci-lhe um colar de rainha e devolveu-mo sem uma única palavra.
- Dá-lhe qualquer coisa que ela não tenha.
- O quê, por exemplo?
- Um bom motivo para se rir, isso nunca falha com as mulheres.
E o avô adormeceu com o auscultador na mão, sonhando com as donzelas que o tinham amado quando fazia acrobacias mortais no trapézio e dançava com a sua macaca.
No dia seguinte o joalheiro Zinimerman recebeu na oficina uma fina jovem, manicura de profissão, segundo explicou, que vinha oferecer-lhe pela metade do preço o mesmo colar de esmeraldas que ele tinha vendido quarenta e oito horas antes. O joalheiro recordava-se muito bem do comprador, era impossível esquecê-lo, um parolo presumido.
- Preciso de uma joia capaz de fazer cair as defesas de uma senhora arrogante - tinha ele dito.
Zimmerman olhou-o por um segundo e achou que devia ser um daqueles novos ricos do petróleo ou da cocaína. Não tinha humor para vulgaridades, estava habituado a outra classe de gente. Raramente atendia ele mesmo os clientes, mas aquele homem tinha insistido em falar com ele e parecia disposto a gastar sem hesitações.
- Que me recomenda o senhor? - perguntara ao ver a bandeja onde brilhavam as mais valiosas prendas.
- Depende da senhora. Os rubis e as pérolas brilham bem sobre a pele morena, as esmeraldas sobre a pele mais clara, os diamantes são sempre perfeitos.
- Ela tem demasiados diamantes. O marido oferece-lhos como se fossem caramelos.
Zimmerman tossiu. Repugnava-lhe aquele tipo de confidências.
O homem pegou no colar, levantou-o até à luz sem nenhum respeito, agitou-o como a uma cascavel e o ar encheu-se de tilintados e chispas verdes, enquanto a úlcera do joalheiro dava um puxão.
- Acha que as esmeraldas dão boa sorte?
- Suponho que todas as pedras preciosas cumprem esse requisito, senhor, mas não sou supersticioso.
- É uma mulher muito especial. Não posso enganar-me no presente, compreende?
- Perfeitamente.
Mas pelos vistos foi o que aconteceu, disse para si Zimmerman sem poder evitar um sorriso sarcástico, quando a mulher levou o colar de volta. Não, não havia nada de mau na joia, era ela quem estava mal. Tinha imaginado uma mulher mais requintada, de maneira nenhuma uma manicura com aquela carteira de plástico e aquela blusa ordinária, mas a rapariga, intrigava-o, havia nela qualquer coisa de vulnerável e patético, pobrezinha, não vai ter um bom fim nas mãos desse bandoleiro, pensou ele.
- É melhor contar-me tudo, minha filha - disse Zimmerman. Por fim.
A jovem desbobinou-lhe o conto que havia decorado e uma hora depois saiu da oficina com um passo ligeiro. Tal como planeara desde o começo, o joalheiro não só comprara o colar como além disso a convidara para jantar. Foi-lhe fácil constatar que Zimmerman. Era um daqueles homens astutos e desconfiados para os negócios, mas ingênuo para todo o resto e que seria fácil mantê-lo distraído pelo tempo que Horacio Fortunato necessitasse e estivesse disposto a pagar.
Foi uma noite memorável para Zimmerman, que tinha contado com um jantar e começou a viver uma paixão inesperada. No dia seguinte tornou a ver a sua nova amiga e no fim de semana disse gaguejando a Patricia que ia partir por alguns dias para Nova Iorque para um leilão de joias russas, salvas do massacre de Ekaterimburgo. Sua mulher não lhe prestou atenção.
Cozinhando em casa, sem vontade de sair e com uma dor de cabeça que ia e vinha sem descanso, Patricia decidiu dedicar o sábado a recuperar forças. Sentou-se no terraço a folhear revistas de moda. Não tinha chovido em toda a semana, o ar estava seco e denso. Leu um bocado até que o sol começou a dar-lhe sono, o corpo pesava-lhe, os olhos fechavam-se-lhe, a revista caiu-lhe das mãos. Nisto chegou-lhe um rumor do fundo do jardim e pensou no jardineiro, um tipo casmurro, que em menos de um ano tinha transformado a sua propriedade num matagal tropical, arrancando os seus canteiros de crisântemos para dar lugar a densa vegetação. Abriu os olhos, olhou distraída contra o sol e notou que qualquer coisa de tamanho imenso se mexia na copa do abacateiro. Tirou os óculos escuros e pôs-se em pé. Não havia dúvida, uma sombra agitava-se lá em cima e não fazia parte da folhagem.
Patricia Zinimerman. deixou o cadeirão e, andando alguns passos, pôde então ver com nitidez um fantasma vestido de azul com uma capa dourada que passou a voar a vários metros de altura, deu uma reviravolta no ar e por alguns instantes pareceu parar, no gesto de a saudar do céu. Ela abafou um grito, certa de que a aparição cairia como uma pedra e se desintegraria ao tocar o chão, mas a capa insuflou-se e aquele coleóptero sorridente estendeu os braços e agarrou-se a uma nespereira vizinha. Logo surgiu outra figura azul pendurada pelas pernas da copa de outra árvore, balançando pelos pulsos uma menina com uma coroa de flores. O primeiro trapezista fez um sinal e o segundo lançou-lhe a criança que soltou uma chuva de mariposas de papel antes de ser agarrada pelos tornozelos.
Patricia não conseguiu mover-se enquanto nas alturas voavam os pássaros silenciosos com capa de ouro.
Um alarido encheu o jardim, um grito longo e bárbaro que distraiu Patricia dos trapezistas. Viu cair uma corda grossa por uma parede lateral da propriedade e por ali desceu Tarzan em pessoa, o mesmo da matinée no cinematógrafo e o das histórias da infância, com a sua mísera tanga de pele de tigre e um macaco autêntico sentado no braço, abraçando-o pela cintura. O rei da selva aterrou com graça, bateu no peito com os punhos e repetiu o bramido visceral atraindo todos os empregados da casa, que se precipitaram para o terraço.
Patricia com um gesto ordenou-lhes que ficassem quietos, enquanto a voz do Tarzan se apagava para dar passagem a um lúgubre grupo de tambores anunciando uma comitiva de quatro egípcias que avançavam a três quartos, cabeça e pés torcidos, seguidas por um corcunda com capuz às riscas, que arrastava uma pantera negra por uma corrente. Depois apareceram dois monges carregando um sarcófago, mais atrás um anjo de longos cabelos dourados e a fechar o cortejo um índio disfarçado de japonês, em pijama, equilibrando-se em tamancos de madeira.
Todos ficaram atrás da piscina. Os monges colocaram o caixão sobre a relva e enquanto as vestais cantarolavam numa língua morta qualquer, e o Anjo e Kuramoto faziam brilhar as suas prodigiosas musculaturas, levantou-se a tampa do sarcófago e um ser de pesadelo saiu do interior. Quando ficou de pé, com todas as ligaduras à mostra, foi evidente que se tratava de uma múmia em perfeito estado de saúde. Nesse momento Tarzan deu outro grito e sem que tivesse havido outra provocação pôs-se a dar saltos à volta dos egípcios e a sacudir o símio.
A múmia perdeu a sua paciência milenária, levantou um braço e deixou-o cair como um cacete na nuca do selvagem, deixando-o inerte com a cara enterrada na relva.
A macaca trepou a uma árvore, guinchando. Antes que o faraó embalsamado liquidasse Tarzan com um segundo golpe, este pôs-se de pé e caiu-lhe em cima, rugindo. Ambos rebolaram enrolados numa posição incrível, até que a pantera se soltou, e todos correram à procura de refúgio entre as plantas e os empregados da casa voaram a meter-se na cozinha. Patricia estava quase a benzer-se, quando apareceu por artes mágicas um tipo de fraque e chapéu alto que com uma sonora chicotada seca parou o felino, atirando-o ao chão. Isto permitiu ao corcunda apanhar a corrente, enquanto o outro tirava o chapéu e extraía do seu interior uma torta de merengue, que trouxe para o terraço e pôs aos pés da dona da casa.
Ao fundo do jardim apareceu o resto da companhia: os músicos da banda a tocar marchas militares, os palhaços às bofetadas uns aos outros, os anões das cortes medievais, a cavaleira em pé no cavalo, a mulher de barbas, os cães de bicicleta, o avestruz vestido de columbina e, por fim, uma fila de pugilistas com os seus calções de cetim e as luvas da ordem, empurrando uma plataforma com rodas, coroada por um arco de cartão pintado. E aí, sobre esse estrado de imperador de fancaria, ia Horacio Fortunato com a sua melena penteada com brilhantina, o seu impecável sorriso de gala, vaidoso debaixo do seu pórtico triunfal, rodeado pelo seu incrível circo, aclamado pelas trombetas e pratos da sua própria orquestra, o homem mais soberbo, mais apaixonado e mais divertido do mundo. Patricia deu uma gargalhada e foi ao seu encontro.
9 - Tosca
O pai sentou-a ao piano aos cinco anos e aos dez Maurizia Rugieri dava o primeiro recital no Clube Garibaldi, vestida de organdi cor-de-rosa e botinas de verniz, perante um público benévolo, composto na sua maioria por membros da colónia italiana. No fim da apresentação puseram vários ramos de flores a seus pés e o presidente do clube entregou-lhe uma placa comemorativa e uma boneca de loiça, enfeitadas com fitas e rendas.
- Saudamos-te Maurizia Rugieri, como um gênio precoce, um novo Mozart. Esperam-te os grandes palcos do mundo - declamou.
A menina esperou que acabassem os aplausos e sobre o choro orgulhoso da mãe, fez ouvir a sua voz com uma altivez inesperada.
- Esta é a última vez que toco piano. O que eu quero ser é cantora - disse, saindo da sala a arrastar a boneca por um pé.
Logo que se recompôs da vergonha, o pai pô-la em aulas de canto com um severo mestre, que por cada nota falsa lhe dava uma palmada nas mãos, o que não conseguiu matar o entusiasmo da menina pela ópera. No entanto, no fim da adolescência viu-se que tinha uma voz de pássaro, apenas suficiente para embalar um bebé no berço, de maneira que teve de trocar as pretensões de soprano por um destino mais banal. Aos dezanove anos casou com Ezio Longo, emigrante de primeira geração no país, arquitecto sem título, construtor de profissão, que se havia proposto fundar um império sobre cimento e aço e aos trinta e cinco anos já o tinha quase consolidado.
Ezio Longo apaixonou-se por Maurizia Rugieri com a mesma determinação com que semeava a capital com os seus edifícios.
Era de pequena estatura, ossos sólidos, um pescoço de animal de tiro e um rosto enérgico e algo brutal, de lábios grossos e olhos negros. O seu trabalho obrigava-o a vestir-se com roupa rústica e de tanto estar ao sol tinha a pele escura e cruzada de sulcos, como se fosse couro curtido. Era de carácter bonacheirão e generoso, ria com facilidade e gostava de música popular e de comida abundante e sem-cerimônias. Sob essa aparência um pouco vulgar havia uma alma refinada e uma delicadeza que não sabia traduzir em gestos ou em palavras. Ao contemplar Maurizia por vezes os olhos enchiam-se de lágrimas e o peito de uma ternura oprimida, que ele dissimulava num repente, sufocado pela vergonha. Era-lhe impossível exprimir os seus sentimentos e julgava que cobrindo-a de presentes e suportando com paciência estoica as suas extravagantes mudanças de humor e as suas dores imaginárias, compensaria as falhas do seu repertório de amante. Ela provocava nele um desejo premente, todos os dias renovados com o ardor dos primeiros encontros, abraçava-a exacerbado, tentando destruir o abismo entre os dois, mas toda a sua paixão esbarrava contra os gestos afetados de Maurizia, cuja imaginação permanecia inebriada por leituras românticas e discos de Verdi e Puccini.
Ezio adormecia vencido pela fadiga do dia, esmagado por pesadelos de paredes torcidas e escadarias em espiral e despertava de manhã para ficar sentado na cama observando a mulher adormecida com tal atenção que aprendeu a adivinhar-lhe os sonhos. Teria dado a vida para que ela respondesse aos seus sentimentos com igual intensidade. Construiu-lhe uma casa descomunal apoiada em colunas, onde a mistura de estilos e a profusão de adornos confundiam o sentido de orientação e onde quatro criados trabalhavam sem descanso só para polir bronzes, dar brilho aos soalhos, limpar os globos de vidro dos candeeiros e sacudir o pó dos móveis de pés dourados e dos falsos tapetes persas, importados de Espanha. A casa tinha um pequeno anfiteatro no jardim, com altifalantes e luzes de grande palco, no qual Maurizia Rugieri costumava cantar para os seus convidados. Ezio não teria admitido nem em transe de morte que era incapaz de apreciar aqueles vacilantes pios de pardal, não só para não pôr em evidência as lacunas da sua cultura, mas sobretudo por respeito às inclinações artísticas da mulher. Era um homem optimista e seguro de si próprio, mas quando Maurizia anunciou a chorar que estava grávida, a ele veio-lhe como um golpe, um incontrolável receio, sentiu que o coração se lhe partia como um melão, que não havia lugar para tanta felicidade neste vale de lágrimas. Pensou que alguma catástrofe fulminante destruiria o seu precário paraíso e dispôs-se a defendê-lo contra qualquer interferência.
A catástrofe foi um estudante de medicina em quem Maurizia tropeçou num carro eléctrico. Nesta altura já tinha nascido o menino - uma criança tão viva como o seu pai, que parecia imune a tudo, inclusive ao mau-olhado - e a mãe já recuperara a cintura. O estudante, um jovem magro e pálido, com perfil de estátua romana, sentou-se junto de Maurizia no trajecto para o centro da cidade. Lia a partitura da Tosca, assobiando entre dentes uma ária do último acto. Ela sentiu que todo o sol do meio-dia se lhe eternizava nas faces e um suor de antecipação lhe inundava o espartilho. Sem o poder evitar trauteou as palavras do infortunado Mário saudando o amanhecer, antes que o pelotão de fuzilamento acabasse os seus dias. Assim, entre duas linhas de partitura começou o romance. O jovem chamava-se Leonardo Góniez e era tão entusiasta do bel-canto como Maurizia.
Durante os meses seguintes o estudante obteve o seu diploma de médico e ela viveu uma por uma todas as tragédias da ópera e algumas da literatura universal, mataram-na sucessivamente Don José, a tuberculose, um túmulo egípcio, uma adaga e veneno, amor cantando em italiano, francês e alemão, foi Aída, Carmen e Lucia de Lamermoor, e em todas as ocasiões Leonardo Góniez era o objeto da sua paixão imortal. Na vida real viviam um amor casto, que ela desejava consumar sem se atrever a tomar uma iniciativa, e que ele combatia no seu coração por respeito à condição de casada de Maurizia. Encontravam-se em lugares públicos e algumas vezes enlaçaram as mãos na zona sombria de algum parque, trocaram bilhetes assinados por Tosca e Mário e naturalmente chamara Scarpia a Ezio Longo, que tão agradecido estava pelo filho, pela sua formosa mulher e pelos bens outorgados pelo céu, e tão ocupado a trabalhar para oferecer à família toda a segurança possível, que se não fosse um vizinho a contar-lhe a graça de que sua esposa passeava demasiado de carro eléctrico, talvez nunca tivesse sabido do que se passava nas suas costas.
Ezio Longo havia-se preparado para enfrentar a contingência de uma quebra nos seus negócios, uma doença e até um acidente do seu filho, como imaginava nos seus piores momentos de terror supersticioso, mas nunca pensara que um melífluo estudante pudesse arrebatar-lhe a mulher diante do seu nariz. Ao saber esteve quase a ponto de soltar uma gargalhada, porque, de todas as desgraças, aquela parecia-lhe a mais fácil de resolver, mas depois desse primeiro impulso uma raiva cega transtornou-lhe o fígado. Seguiu Maurizia até uma discreta pastelaria, onde a surpreendeu bebendo chocolate com o namorado. Não pediu explicações. Agarrou no rival pelo fato, levantou-o no ar e atirou-o contra a parede no meio de um estardalhaço de loiça partida e berros da clientela. Depois pegou na mulher pelo braço e levou-a até ao carro, um dos últimos Mercedes Benz importados no país antes que a Segunda Guerra Mundial arruinasse as relações comerciais com a Alemanha. Trancou-a em casa e mandou dois pedreiros da sua empresa reforçar as portas. Maurizia passou os dias chorando na cama, sem falar nem comer. Entretanto, Ezio Longo tinha tido tempo para meditar e a ira transformara-se numa frustração surda que lhe trouxe à memória o abandono da sua infância, a pobreza da sua juventude, a solidão da sua existência e toda aquela fome inesgotável de carinho que o acompanharam até conhecer Maurizia Rugieri e julgou ter conquistado uma deusa.
Ao terceiro dia não aguentou mais e entrou no quarto da mulher.
- Pelo nosso filho, Maurizia, tens de tirar da cabeça essa fantasia. já sei que não sou muito romântico, mas, se me ajudares, posso mudar. Não sou homem para aguentar cornos e gosto demasiado de ti para te deixar ir. Se me deres a oportunidade, far-te-ei feliz, juro-te.
Como resposta ela virou-se contra a parede e prolongou o jejum por mais dois dias. O marido regressou.
- Gostaria de saber que porra é que te falta neste mundo para ver se ta posso dar - disse-lhe derrotado.
- Falta-me Leonardo. Sem ele vou morrer.
- Está bem. Podes ir com esse peralvilho se quiseres, mas não voltarás a ver o nosso filho, nunca mais.
Ela fez as malas, vestiu-se de musselina, pôs um chapéu com véu e, chamou um carro de aluguer. Antes de partir beijou o menino a soluçar e, sussurrou-lhe ao ouvido que logo o viria buscar. Ezio Longo, que só numa semana tinha perdido seis quilos e metade do cabelo, tirou-lhe a criança dos braços.
Maurizia Rugieri chegou à pensão onde vivia o seu namorado e soube que este tinha saído há dois dias para trabalhar como médico num acampamento petrolífero, numa dessas províncias quentes cujo nome evocava índios e cobras. Custou-lhe convencer-se de que ele tinha partido sem se despedir, mas atribuiu-o à carga de pancada recebida na pastelaria, concluiu que Leonardo era um poeta e que a brutalidade do marido o devia ter baralhado. Hospedou-se num hotel e nos dias seguintes mandou telegramas para todos os pontos imagináveis.
Por fim conseguiu localizar Leonardo Gómez para lhe dizer que por ele tinha renunciado ao seu único filho, desafiando o marido, a sociedade e mesmo Peus e que a sua decisão de o seguir no seu destino, até que a morte os separasse, era absolutamente irrevogável.
A viagem foi uma longa expedição de comboio, caminhão e nalgumas partes por via fluvial. Maurizia nunca tinha saído sozinha mais que o raio de uma légua à volta de sua casa, mas nem a grandeza da paisagem das incalculáveis distâncias puderam atemorizá-la. Pelo caminho perdeu um par de malas e o vestido de musselina ficou transformado num trapo amarelo de pó, mas chegou finalmente à confluência do rio onde Leonardo devia estar à sua espera. Ao descer do carro viu uma piroga na margem e correu até ela com as pontas do véu voando atrás de si e o seu longo cabelo saindo em caracóis do chapéu. Mas em vez do seu Mário encontrou um negro com capacete de explorador e dois índios melancólicos de remos na mão. Era tarde para retroceder. Aceitou a explicação de que o doutor Gómez tinha tido uma emergência e subiu para o bote com o resto da sua pouca bagagem, rezando para que aqueles homens não fossem bandoleiros ou canibais. Não eram, felizmente, e levaram-na sã e salva, por água, através de um extenso território abrupto e selvagem, até ao lugar onde o seu apaixonado a aguardava. Eram dois vilarejos, um de longos dormitórios comuns onde viviam os trabalhadores e outro onde habitavam os empregados, e que consistiam de escritórios da companhia. vinte e cinco casas pré-fabricadas trazidas por avião dos Estados Unidos, um absurdo campo de golfe e um tanque de água verde que todas as manhãs estava cheio de enormes sapos, tudo rodeado por uma cerca metálica com um portão guardado por duas sentinelas. Era um acampamento de homens de passagem, ali a existência girava em torno daquele lodo escuro que subia do fundo da terra como um infindável vómito de dragão. Naquelas solidões não havia mais mulheres que algumas resignadas companheiras dos trabalhadores, os gringos e os capatazes viajavam até à cidade de três em três meses para visitar as famílias. A chegada da esposa do doutor Gómez, como lhe chamaram, alterou a rotina por alguns dias, até se acostumarem a vê-la passar com os seus véus, a sua sombrinha e os seus sapatos de baile, como uma personagem fugida de outro conto.
Maurizia Rugieri não consentiu que a rudeza daqueles homens ou o calor de cada dia a vencessem, propôs-se viver o seu destino com grandeza e quase o conseguiu. Transformou Leonardo Gómez no herói do seu próprio melodrama, adornando-o com virtudes utópicas e exaltando até à demência a qualidade do seu amor, sem se deter a medir a resposta do amante para saber se ele a acompanhava naquela louca corrida passional. Se Leonardo Gómez dava mostras de ficar muito para trás, ela atribuía-o ao seu carácter tímido e à sua saúde fraca, afetada por aquele clima maldito. Na verdade, ele parecia tão frágil que ela curou-se definitivamente de todos os seus antigos mal-estares para se dedicar a cuidar dele.
Acompanhava-o ao primitivo hospital e aprendeu a profissão de enfermeira para o ajudar. Atender vítimas de malária ou curar horrendas feridas de acidentes nos poços parecia-lhe melhor que permanecer fechada em casa, sentada debaixo da ventoinha, lendo pela centésima vez as mesmas revistas antigas e novelas românticas. Entre seringas e ligaduras podia imaginar-se como uma heroína de guerra, uma dessas valentes mulheres dos filmes que às vezes viam no clube do acampamento. Recusou-se com uma determinação suicida a perceber o desfazer da realidade, empenhada em embelezar cada instante com palavras já que não podia fazê-lo de outro modo. Falava de Leonardo Gómez - a quem continuou a chamar Mário - como um santo dedicado ao serviço da humanidade e impôs a si própria o trabalho de mostrar ao mundo que ambos eram os protagonistas de um amor excepcional, o que acabou por desencorajar qualquer empregado da companhia que pudesse ter-se sentido inflamado pela única mulher branca da aldeia. A barbárie do acampamento chamou Maurizia contacto com a natureza e ignorou os mosquitos, os bichos venenosos, as iguanas, o inferno do dia, o sufoco da noite e o facto de não se poder aventurar sozinha para lá do portão. Referia-se à sua solidão, ao aborrecimento e ao desejo natural de calcorrear a cidade, de se vestir à moda, de visitar as amigas e ir ao teatro, com uma ligeira nostalgia. A única coisa a que não pôde mudar o nome foi essa dor animal que a dobrava em dois ao recordar o filho, de tal modo que optou por nunca mais falar dele.
Leonardo Gómez trabalhou como médico do acampamento durante mais de dez anos, até que as febres e o clima lhe acabaram com a saúde. Passava muito tempo dentro da cerca protectora da Companhia Petrolífera, não tinha forças para se iniciar num meio mais agressivo e, por outro lado, recordava ainda a fúria de Ezio Longo quando o rebentou contra a parede, por isso tudo, nem sequer considerou a eventualidade de voltar à capital. Procurou outro posto num canto perdido onde pudesse continuar a viver em paz. Chegou assim um dia a água Santa, com a mulher, os seus instrumentos de médico e os seus discos de ópera. Estava-se nos anos 50 e Maurizia Rugieri desceu do autocarro vestida à moda, com um vestido justo, decotado e um enorme chapéu de palha negra, que tinha encomendado por catálogo em Nova Iorque, coisa nunca vista por aqueles sítios. De qualquer modo, acolheram-nos com a hospitalidade das terras pequenas e em menos de vinte e quatro horas todos conheciam a história de amor dos recém-chegados. Chamaram-lhes Tosca e Mário, sem fazerem a menor ideia de quem eram essas personagens, mas Maurizia encarregou-se de fazê-los saber.
Abandonou as suas práticas de enfermeira junto de Leonardo, formou um coro litúrgico para a paróquia e deu os primeiros recitais de canto na aldeia. Mudos de assombro, os habitantes de água Santa viram-na transformada em Madame Butterfly sobre um palco improvisado na escola, vestida com um estrambólico roupão de quarto, uns pauzinhos de tear no cabelo, duas flores de plástico nas orelhas e a cara pintada com gesso branco, trinando com a sua voz de pássaro. Ninguém percebeu uma só palavra do canto, mas quando se ajoelhou e puxou de uma faca de cozinha ameaçando enterrá-la na barriga, o público deu um grito de horror e um espectador correu a dissuadi-la, tirou-lhe a arma das mãos e obrigou-a a pôr-se de pé. Em seguida, armou-se uma grande discussão sobre as razões para a trágica resolução da dama japonesa, e todos concordaram que o marinheiro norte-americano que a tinha abandonado era um desalmado, mas não valia a pena morrer por ele, já que a vida é longa e há muitos homens neste mundo. A representação terminou em folguedo quando se improvisou uma banda que interpretou algumas cumbias e as pessoas se puseram a dançar.
A essa noite memorável seguiram-se outras idênticas: canto, morte, explicação por parte do soprano do argumento da ópera, discussão pública e festa final.
O doutor Mário e a senhora Tosca eram os membros selectos da comunidade, ele encarregava-se da saúde de todos e ela da vida cultural e de informar das mudanças na moda. Vivia numa casa fresca e agradável, metade da qual era ocupada pelo consultório. No pátio tinham uma arara azul e amarela, que voava sobre as suas cabeças quando saíam para passear na praça. Sabia-se por onde o doutor e a mulher andavam porque o pássaro os acompanhava sempre a dois metros de altura, planando silenciosamente com as suas grandes asas de animal colorido.
Viveram em água Santa muitos anos, respeitados pelas pessoas, que os apontavam como exemplo de amor perfeito.
Num daqueles ataques, o doutor perdeu-se nos caminhos da febre e já não pôde regressar. A sua morte comoveu a povoação. Recearam que a sua mulher cometesse um acto fatal, igual a tantos que tinha representado a cantar, e por isso fizeram turnos para a acompanhar dia e noite durante as semanas que se seguiram. Maurizia Rugieri vestiu-se de luto dos pés à cabeça, pintou de negro todos os móveis da casa e arrastou a sua dor como uma sombra tenaz que lhe marcou o rosto com dois profundos sulcos junto à boca, mas não tentou pôr fim à vida.
Talvez na intimidade do quarto, quando estava só na cama, sentisse um profundo alívio porque já não tinha de continuar a puxar a pesada carreta dos seus sonhos, já não era necessário manter viva a personagem inventada para representar para si mesma, nem continuar a fazer malabarismos para dissimular as fraquezas de um amante que nunca estivera à altura das suas ilusões. Mas o hábito do teatro estava nela demasiado enraizado, Com a mesma paciência infinita com que antes criara uma imagem de heroína romântica, na viuvez construiu a lenda do seu desconsolo. Ficou em água Santa, sempre vestida de negro, embora já não se usasse luto há muito tempo, e negou-se a cantar de novo, apesar das súplicas dos amigos, que pensavam que a ópera lhe podia dar consolo. O povo estreitou o círculo à sua volta, como um forte abraço, para lhe tornar a vida suportável e ajudá-la nas suas recordações. Com a cumplicidade de todos, a imagem do doutor Gómez cresceu na imaginação popular. Dois anos depois fizeram uma colecta para fundir um busto de bronze que colocaram sobre uma coluna na praça, em frente da estátua de pedra do Libertador.
No mesmo ano abriram a estrada que passou em frente de água Santa, alterando para sempre o aspecto e o ânimo do povoado.
No começo as pessoas opuseram-se ao projecto, julgando que trariam os pobres reclusos da Colónia Penal de Santa Maria para os pôr de grilhetas, a cortar árvores e a picar pedras, como diziam os avós que tinha sido construída a estrada nos tempos da ditadura do Benfeitor, mas logo chegaram os engenheiros da cidade com a notícia de que o trabalho seria feito por máquinas modernas, em vez de presos. Atrás deles vieram os topógrafos e depois grupos de operários com capacetes cor de laranja e coletes que brilhavam no escuro. As máquinas acabaram por ser umas montanhas de ferro do tamanho de um dinossauro segundo cálculos da professora da escola, em cujos flancos estava pintado o nome da empresa, Ezio Longo e Filho. Nessa mesma sexta-feira chegaram o pai e o filho a água Santa para vistoriar as obras e pagar aos trabalhadores.
Ao ver os letreiros e as máquinas do seu antigo marido, Maurizia Rugieri escondeu-se em casa com portas e janelas fechadas, com a insensata esperança de manter-se longe do seu passado. Durante vinte e oito anos suportara a recordação do seu filho ausente, como uma dor cravada no centro do corpo, e quando soube que os donos da companhia construtora estavam em água Santa a almoçar na taberna, não pôde continuar a lutar contra o seu instinto. Olhou-se ao espelho. Era uma mulher de cinquenta e um anos, envelhecida pelo sol dos trópicos e pelo esforço de fingir uma felicidade quimérica, mas as suas decisões ainda mantinham a nobreza do orgulho. Escovou o cabelo e penteou-o com um carrapito alto, sem tentar disfarçar as cãs, enfiou o seu melhor vestido negro e o colar de pérolas do seu casamento, salvo de tantas aventuras, e num gesto de tímida coqueteria pôs um toque de lápis preto nos olhos e de carmim nas faces e nos lábios. Saiu de casa protegendo-se do sol com o chapéu de chuva de Leonardo Gómez. O suor corria-lhe pelas costas, mas já não tremia.
A essa hora as persianas da taberna estavam fechadas para evitar o calor do meio-dia, por isso Maurizia Rugieri necessitou de um bom bocado para acostumar os olhos à penumbra e distinguir numa das mesas do fundo Ezio Longo e o homem jovem que devia ser seu filho.
O marido tinha mudado muito menos do que ela, talvez por ter sido sempre uma pessoa sem idade. O mesmo pescoço de leão, o mesmo esqueleto sólido, as mesmas faces torpes e olhos afundados, mas agora adocicadas por um abaninho de rugas alegres produzidas pelo bom humor. Inclinado sobre o prato, mastigava com entusiasmo, ouvindo a conversa do filho.
Maurizia observou-os de longe. O filho devia andar pelos trinta anos. Embora tivesse os ossos grandes e a pele delicada da mãe, os gestos eram os do pai, comia com igual prazer, batia na mesa para enfatizar as palavras, ria-se muito, era um homem vivo e enérgico, com um sentido categórico da sua própria força, bem-disposto para a luta. Maurizia olhou Ezio Longo com olhos novos e viu pela primeira vez as suas maciças virtudes masculinas. Deu dois passos em frente, comovida, com o ar apertado no peito, vendo-se a si mesma noutra dimensão, como se estivesse sobre um cenário, representando o momento mais dramático do longo teatro que fora a sua existência, com os nomes do marido e do filho nos lábios e a melhor disposição para ser perdoada por tantos anos de abandono. Nesses minutos viu as minuciosas engrenagens da armadilha em que tinha caído durante trinta anos de alucinações. Compreendeu que o verdadeiro herói da novela era Ezio Longo e quis acreditar que ele tinha continuado a desejá-la e a esperá-la durante todos aqueles anos com o amor persistente e apaixonado que Leonardo Gómez nunca lhe pudera dar porque isso não estava na sua natureza.
Nesse instante, quando apenas mais um passo a teria tirado da zona da sombra e posto em evidência, o jovem inclinou-se, agarrando o pulso do pai e disse algo com um piscar de olho simpático. Ambos rebentaram às gargalhadas, dando palmadas nos braços um do outro, despenteando-se mutuamente, com uma ternura viril e uma firme cumplicidade da qual Maurizia Rugieri e o resto do mundo estavam excluídos. Ela vacilou por um momento infinito na fronteira entre a realidade e o sonho, depois recuou, saiu da taberna, abriu o chapéu de chuva negro e regressou a casa com a arara voando sobre a sua cabeça, como um extravagante arcanjo de calendário.
10 - Walimai
O nome que meu pai me deu é Walimai, que na língua dos nossos irmãos do Norte quer dizer vento. Posso contar-te isto, porque agora és como a minha própria filha e tens a minha autorização para me tratares apenas quando estamos em família. Deve ter-se muito cuidado com os nomes das pessoas e dos seres vivos, porque ao pronunciá-los toca-se o seu coração e estamos dentro da sua força vital. Assim nos saudamos como parentes de sangue. Não entendo a facilidade que os estrangeiros têm para se chamar uns aos outros sem uma ponta de receio, o que não só é falta de respeito, como também pode ocasionar graves perigos. já notei que essas pessoas falam com a maior leviandade, sem ter em conta que falar é também ser. O gesto e a palavra são o pensamento do homem. Não se deve falar em vão, isso ensinei eu a meus filhos, mas nem sempre se ouvem os meus conselhos. Antigamente os tabus e as tradições eram respeitados. Os meus avós e os avós dos meus avós receberam dos seus avós os conhecimentos necessários.
Nada mudava para eles. Um homem com boa aprendizagem podia recordar cada um dos ensinamentos recebidos e assim sabia como actuar em qualquer ocasião. Mas chegaram depois os estrangeiros falando contra a sabedoria dos anciãos, empurrando-nos para fora da nossa terra.
Internámo-nos cada vez mais dentro da selva, mas eles dão sempre connosco, às vezes passam-se anos, mas, finalmente, chegam de novo e então nós temos de destruir as sementeiras, carregar as crianças às costas, atar os animais e partir. Assim tem sido desde que me lembro: deixar tudo e largar a correr como ratos e não como os grandes guerreiros e os deuses que povoaram este território na Antiguidade. Alguns jovens têm curiosidade pelos Brancos e enquanto nós viajamos até ao fundo do bosque para continuar a viver como os nossos antepassados, outros fazem o caminho ao contrário. Consideramos os que se vão embora como se tivessem morrido, porque muito poucos regressam e os que o fazem mudaram tanto que não podemos reconhecê-los como parentes.
Dizem que nos anos anteriores à minha vinda ao mundo não nasceram suficientes fêmeas no nosso povo e por isso o meu pai teve de percorrer longos caminhos para procurar mulher noutra tribo. Viajou pelos bosques seguindo as indicações de outros que antes percorreram esse caminho pela mesma razão e que voltaram com mulheres estrangeiras. Depois de passar muito tempo, quando o meu pai já começava a perder a esperança de encontrar companheira, viu uma rapariga ao pé de uma grande cascata, um rio que caía do céu. Sem se aproximar demasiado, para não a assustar, falou-lhe no tom que os caçadores usam para tranquilizar a presa, e explicou-lhe a sua necessidade de casar. Ela fez-lhe sinais para se aproximar, observou-o todo de alto a baixo, o aspecto do viajante deve ter-lhe agradado, porque achou que a ideia do casamento não era de todo descabida. O meu pai teve de trabalhar para o sogro até lhe pagar o valor da mulher. Depois de cumprir os rituais da boda, os dois fizeram a viagem de regresso à sua aldeia.
Eu cresci com os meus irmãos debaixo das árvores, sem nunca ver o sol. às vezes caía uma árvore ferida e ficava um buraco na cúpula profunda do bosque, então víamos o olho azul do céu.
Os meus pais contaram-me contos, cantaram-me canções e ensinaram-me o que devem saber os homens para sobreviver sem ajuda, só com o arco e as flechas. Deste modo, fui livre. Nós, os Filhos da Lua, não podemos viver sem liberdade. Quando nos fecham entre paredes ou barrotes, voltamo-nos para dentro, pomo-nos cegos e surdos e, em poucos dias, o espírito despega-se dos ossos do peito e abandona-nos. Por vezes tornamo-nos como animais miseráveis, mas preferimos morrer quase sempre. Por isso as nossas casas não têm paredes, apenas um tecto inclinado para segurar o vento e desviar a chuva, debaixo do qual penduramos as nossas redes muito juntas, porque gostamos de escutar o sono das mulheres e das crianças e sentir a respiração dos macacos, dos cães e dos papagaios que dormem debaixo do mesmo telhado. Nos primeiros tempos vivi na selva sem saber que existia mundo mais para lá dos montes e dos rios. Nalgumas ocasiões vieram amigos visitantes de outras tribos que nos contaram rumores de Boa Vista e do Pantanal, dos estrangeiros e seus costumes, mas julgámos que eram só contos para fazer rir. Fiz-me homem e chegou a vez de arranjar uma esposa, mas decidi esperar porque preferia andar com os solteiros, éramos alegres e divertíamo-nos. No entanto, eu não podia dedicar-me à brincadeira e ao descanso como os outros, porque a minha família era numerosa: irmãos, primos, sobrinhos, várias bocas para alimentar, muito trabalho para um caçador.
Um dia chegou um grupo de homens pálidos à nossa aldeia.
Caçavam com pólvora, de longe, sem destreza nem valor, eram incapazes de trepar a uma árvore, ou de cravar um peixe na água com uma lança, mal podiam mover-se na selva, sempre presos às suas mochilas, às suas armas e até aos seus próprios pés. Não se vestiam de ar, como nós, mas têm umas roupas encharcadas e hediondas, eram sujos e não conheciam as regras da decência, mas estavam empenhados em nos falar dos seus conhecimentos e seus deuses. Comparámo-los com o que nos tinham contado acerca dos Brancos, e comprovámos a verdade desses boatos. Logo soubemos que estes não eram missionários, soldados ou apanhadores de cauchu, estavam loucos, queriam a terra e levar a madeira e também procuravam pedras.
Explicamos-lhe que a selva não se pode carregar às costas e transportar como um pássaro morto. Mas não quiseram ouvir razões. Instalaram-se perto da nossa aldeia. Cada um deles era como um vento de catástrofe, destruía à sua passagem tudo o que tocava, deixava um rasto de desperdício, incomodava os animais e as pessoas. A princípio cumprimos com as regras da cortesia e fizemos-lhes as vontades, porque eram nossos hóspedes, mas eles não estavam satisfeitos com nada, queriam sempre mais, até que, cansados dessas brincadeiras, começámos a guerra com todas as cerimônias habituais.
Não eram bons guerreiros, assustavam-se com facilidade e tinham os ossos fracos. Não resistiram às pauladas que lhe demos na cabeça. Depois disso abandonámos a aldeia e fomos para leste, onde o bosque é impenetrável, viajando grandes bocados pelas copas das árvores para que os seus companheiros, não nos alcançassem. Tinha-nos chegado a notícia de que são vingativos e que por cada um deles que morre, mesmo que seja uma batalha limpa, são capazes de eliminar uma tribo inteira, incluindo as crianças. Descobrimos um lugar onde fazer outra aldeia. Não era tão bom, as mulheres tinham de caminhar horas para ir buscar água limpa, mas ali ficámos porque julgámos que ninguém nos procuraria tão longe. Ao fim de um ano, numa ocasião em que tive de me afastar muito seguindo a pista de um puma, aproximei-me demasiado de um acampamento de soldados. Eu estava fatigado e não comia há vários dias, por isso o meu espírito estava atordoado. Em vez de dar meia volta, quando notei a presença dos soldados estrangeiros, deitei-me a descansar. Os soldados apanharam-me. No entanto, não falaram das cacetadas dadas aos outros, na realidade nada me perguntaram, talvez não conhecessem essas pessoas ou não soubessem que eu sou Walimai. Levaram-me para trabalhar com os seringueiros, onde havia muitos homens de outras tribos, a quem tinham vestido com calças e obrigavam a trabalhar sem ligar nenhuma aos seus desejos.
O cauchu requere multa dedicação e não havia suficiente gente por aquelas bandas, por isso tinham de nos levar à força. Esse foi um período sem liberdade e não quero falar disso. Fiquei só para ver se aprendia alguma coisa, mas desde o princípio soube que ia regressar aonde estavam os meus. Ninguém pode reter por muito tempo um guerreiro contra a sua vontade.
Trabalhava-se de sol a sol, alguns sangrando as árvores para lhes tirar a vida, gota a gota, outros cozinhando o líquido recolhido para o condensar e transformá-lo em grandes bolas. O ar livre estava doente com o cheiro da goma queimada e o ar nos dormitórios comuns estava doente com o suor dos homens.
Nesse lugar nunca pude respirar fundo. Davam-nos milho a comer, banana e o estranho conteúdo de umas latas, que nunca provei porque nas latas não pode crescer nada de bom para os humanos. Numa das pontas do acampamento tinham construído uma cabana grande onde mantinham as mulheres.
Depois de duas semanas a trabalhar com o cauchu, o capataz entregou-me um bocado de papel e mandou-me ir onde elas estavam.
Também me deu um copo de licor, que despejei no chão, porque já vi como aquela água destrói a prudência. Fiquei na bicha como todos os outros. Eu era o último e quando me tocou a vez de entrar na cabana, o Sol já se tinha posto e começava a noite com o seu Aguarépito de sapos e papagaios.
Ela era da tribo dos Ila, os de coração doce, donde vêm as raparigas mais delicadas. Alguns homens viajam durante meses para se aproximar dos Ila, levam-lhes presentes e caçam para eles, na esperança de conseguir uma das suas mulheres. Eu reconheci-a apesar do seu aspecto de largato, porque a minha mãe também era uma Ila. Estava nua, sobre uma esteira, atada pelo tornozelo a uma corrente fixa no chão, adormecida como se tivesse aspirado pelo nariz o yopo da acácia, tinha o cheiro dos cães doentes e estava molhada pelo orvalho de todos os homens que tinham estado em cima dela antes de mim. Era do tamanho de uma criança de poucos anos, os seus ossos soavam como pedrinhas do rio. As mulheres Ila tiram todos os pelos do corpo, até as pestanas, enfeitam as orelhas com penas e flores, atravessam paus polidos nas faces e pintam desenhos em todo o corpo com cores, o vermelho do cu, o roxo da palmeira e o negro do carvão. Mas ela já não tinha nada disso. Deixei a minha catana no chão e saudei-a como irmã, imitando alguns cantos de pássaros e o ruído dos rios. Ela não respondeu.
Bati-lhe com força no peito, para ver se o seu espírito ressoava entre as costelas, mas não houve eco, a sua alma estava muito débil e não podia responder-me. De cócoras a seu lado, dei-lhe de beber um pouco de água e falei-lhe na língua de minha mãe. Ela abriu os olhos e olhou longamente.
Compreendi.
Antes de nada lavei-me sem desperdiçar água limpa. Enchi a boca com um bom sorvo e lancei-o em jorros finos, nas minhas mãos, que esfreguei bem, depois limpei a cara. Fiz o mesmo a ela, para lhe tirar o orvalho dos homens. Tirei as calças que o capataz me tinha dado. Da corda que me rodeava a cintura pendiam os meus paus para fazer fogo, algumas pontas de flechas, o meu rolo de tabaco, a minha faca de madeira com um dente de ratazana na ponta e uma bolsa de couro bem firme, onde tinha um pouco de curare. Pus um pouco dessa pasta na ponta da minha faca, inclinei-me sobre a mulher e, com o instrumento envenenado, abri-lhe um corte no pescoço. A vida é um presente dos deuses. O caçador mata para alimentar a família, ele procura não provar a carne da sua presa e prefere que outro caçador lha ofereça. Por vezes, desgraçadamente, um homem mata outro na guerra, mas nunca poderá fazer dano a uma mulher ou a uma criança. Ela olhou-me com grandes olhos, amarelos como o mel, e pareceu-me que quis sorrir agradecida.
Por ela eu tinha violado o primeiro tabu dos Filhos da Lua e teria de pagar a minha vergonha com muitos trabalhos de expiação. Repeti-o duas vezes na minha mente para estar bem seguro, mas sem o pronunciar em voz alta, porque não se deve nomear os mortos para não lhes perturbar a paz, e ela já estava morta, embora o seu coração palpitasse ainda. Depressa vi que se lhe paralisavam os músculos do ventre, do peito e dos membros, perdeu a respiração, mudou de cor, deixou escapar um suspiro e o seu corpo morreu sem lutar, como morrem as crianças pequeninas.
Senti imediatamente que o espírito lhe saía pelas narinas e entrava em mim, agarrando-se ao meu esterno. Todo o peso dela caiu sobre mim e tive de fazer um esforço para me pôr em pé, porque me movia com dificuldade, como se estivesse debaixo de água. Dobrei-lhe o corpo na posição do último descanso, com os joelhos tocando o queixo, atei-a com as cordas da esteira, fizuma pilha com os restos da palha e usei os meus paus para fazer fogo. Quando vi que a fogueira ardia bem, saí lentamente da cabana, trepei a cerca do acampamento com muita dificuldade, porque ela puxava-me para baixo, e dirigi-me ao bosque. Tinha alcançado as primeiras árvores quando ouvi as campainhas de alarme.
Durante o primeiro dia caminhei sem parar nem um instante. No segundo dia fabriquei um arco e algumas flechas e com elas pude caçar para ela e também para mim. O guerreiro que carrega o peso de outra vida humana deve jejuar por dez dias, assim enfraquece o espírito do defunto, que finalmente se desprende e vai para o território das almas. Se não o faz, o espírito engorda com os alimentos e cresce dentro do homem até o sufocar. Vi alguns de fígado valente morrer assim. Mas antes de cumprir esses requisitos eu devia conduzir o espírito da mulher Ila até à vegetação mais escura, onde nunca fosse encontrado. Comi muito pouco, apenas o suficiente para não a matar pela segunda vez.
Cada bocado na minha boca sabia a carne podre e cada sorvo de água era amargo, mas obriguei-me a beber para nos alimentarmos os dois. Durante uma volta completa da Lua entrei pela selva dentro levando a alma da mulher, que cada dia pesava mais.
Falávamos muito. A língua dos Ila é livre e soa debaixo das árvores com um longo eco. Comunicámos um com o outro cantando, com todo o corpo, com os olhos, a cintura, os pés. Repeti-lhe as lendas que aprendi com a minha mãe e meu pai, contei-lhe o meu passado e ela contou-me a primeira parte do seu, quando era uma rapariga alegre que brincava com os irmãos a rebolar-se no barro e a baloiçar-se dos ramos mais altos. Por delicadeza, não mencionou o seu último tempo de desditas e humilhações. Cacei um pássaro branco, arranquei-lhe as melhores penas e fiz-lhe adornos para as orelhas. De noite, mantinha uma pequena fogueira acesa, para que ela não tivesse frio e para que os jaguares e as serpentes não incomodassem o seu sono. Banhei-a no rio com cuidado, esfregando-a com cinza e flores esmagadas, para lhe tirar as más recordações.
Um dia, chegámos finalmente ao local preciso e já não tínhamos pretos para continuar a andar. Ali, a selva era tão densa que em alguns sítios tive de abrir caminho cortando a vegetação com a cataria e até com os dentes e falávamos em voz baixa, para não alterar o silêncio do tempo. Escolhi um lugar perto de um fio de água, levantei um tecto de folhas e fiz uma rede para ela, com três grandes pedaços de casca.
Com a faca rapei a cabeça e comecei o meu jejum.
Durante o tempo que caminhámos juntos, a mulher e eu amámo-nos tanto que já não desejávamos separar-nos, mas o homem não é dono da vida, nem sequer da sua, por isso tive de cumprir com a minha obrigação. Por muitos dias não levei nada à boca, apenas uns sorvos de água. à medida que as forças enfraqueciam ela ía-se desprendendo do meu abraço e o seu espírito, cada vez mais etéreo, já não me pesava como dantes.
Passados cinco dias, ela deu os primeiros passos pelos arredores, enquanto eu dormitava, mas não estando pronta ainda para continuar a viagem sozinha voltou para o meu lado.
Repetiu essas excursões várias vezes, afastando-se cada vez um pouco mais. A dor da sua partida era para mim tão terrível como uma queimadura. Tive de recorrer a todo o valor aprendido com meu pai para não a chamar pelo seu nome, em voz alta, atraindo-a a mim de novo, para sempre. No décimo segundo dia sonhei que ela voava como um tucano por cima das copas das árvores e acordei com o corpo muito leve e com vontade de chorar. Ela tinha-se ido embora, definitivamente. Peguei nas minhas armas e andei muitas horas até chegar a um braço do rio. Mergulhei na água até à cintura, fisguei um pequeno peixe com um pau afiado e engoli-o inteiro, com escamas e cauda. De imediato, vomitei-o com um pouco de sangue, como deve ser. Já não me sentia triste. Aprendi então que, algumas vezes, a morte é mais poderosa que o amor. E fui caçar para não regressar à minha aldeia de mãos vazias.
11 - Ester Lucero
Levaram Ester Lucero numa maca improvisada, sangrando que nem um boi, os olhos escuros abertos de terror. Ao vê-la, o doutor Angel Sánchez perdeu pela primeira vez a sua calma proverbial e não era para menos, pois estava apaixonado por ela desde o dia em que a viu, quando era ainda uma menina. Nesse tempo ela ainda não largara as bonecas e ele, por seu lado, regressava envelhecido mil anos da sua última Campanha Gloriosa. Chegou à povoação à frente da sua coluna, sentado no tejadilho de uma camioneta, com uma espingarda sobre os joelhos, uma barba de meses e uma bala alojada para sempre na virilha, mas tão feliz como nunca estivera antes nem depois. Viu a rapariga agitando uma bandeira de papel vermelho, no meio da multidão que aclamava os libertadores. Naquele momento ele tinha trinta anos e ela andava pelos doze, mas Angel Sánchez adivinhou pelos firmes ossos de alabastro e pela profundidade do olhar da menina, a beleza que em segredo se estava a desenvolver.
Observou-a do alto do seu veículo convencido que era uma visão provocada pelo calor dos pântanos e pelo entusiasmo da vitória, mas como nessa noite não encontrou consolo nos braços da noiva de ocasião que lhe coube por turno, compreendeu que devia sair para buscar aquela criança, pelo menos para comprovar a sua condição de miragem. No dia seguinte, quando se acalmaram os tumultos da rua pela celebração e começou o trabalho de ordenar as coisas e varrer os escombros da ditadura, Sánchez saiu da aldeia a correr. A sua primeira ideia foi visitar as escolas, mas verificou que estavam fechadas desde a última batalha, de maneira que teve de bater às portas uma por uma. Ao fim de vários dias de paciente peregrinação e quando já pensava que a rapariga tinha sido um engano do seu coração extenuado, chegou a uma casa minúscula, pintada de azul e com a frontaria perfurada pelas balas, cuja única janela se abria para a rua sem mais protecção do que umas cortinas de flores. Chamou várias vezes sem obter resposta, então decidiu entrar. O interior era um único aposento, pobremente mobilado, fresco e na penumbra.
Atravessou a sala, abriu uma porta e encontrou-se num amplo pátio atulhado de móveis e ferro-velho com uma rede pendurada debaixo de uma mangueira, um tanque para lavar roupa, um galinheiro ao fundo e uma quantidade de latas e potes de barro, onde cresciam ervas, verduras e flores. Encontrou-se ali, por fim, com quem julgava ter sonhado. Ester Lucero estava descalça, com um vestido de linho ordinário, a sua floresta de cabelo atada na nuca com um atacador de sapatos, ajudando a avó a estender roupa ao sol. Ao vê-lo, ambas recuaram num gesto instintivo, porque tinham aprendido a desconfiar de quem calçava botas.
- Não se assustem, sou um companheiro - apresentou-se ele com a boina sebenta na mão.
A partir desse dia, Angel Sánchez limitou-se a desejar Ester Lucero em silêncio, envergonhado daquela paixão inconfessável por uma rapariguinha impúbere. Por ela recusou ir para a capital quando se repartiu o bolo do poder, e preferiu tomar a seu cargo o único hospital daquela povoação esquecida. Não aspirava a consumar o amor mais para lá da sua imaginação.
Vivia de ínfimas satisfações: vê-la passar a caminho da escola, cuidar dela quando apanhou sarampo, dar-lhe vitaminas nos anos em que o leite, os ovos e a carne só se conseguiam para os mais pequenos e os outros tinham de conformar-se com banana e milho, visitá-la no seu pátio onde se sentava numa cadeira a ensinar-lhe a tabuada sob o olhar vigilante da avó.
Ester Lucero acabou por lhe chamar tio à falta de nome mais apropriado, e a velha foi aceitando a sua presença como outro dos inexplicáveis mistérios da Revolução.
- Que interesse pode ter um homem instruído, doutor, chefe do hospital e herói da pátria na conversa de uma velha e nos silêncios da neta? - perguntavam as comadres da aldeia.
Nos anos seguintes, a rapariga cresceu como sucede quase sempre, mas Angel Sánchez julgou que no seu caso era uma espécie de milagre e que só ele podia ver a beleza que amadurecia escondida debaixo dos vestidos inocentes confeccionados pela avó na sua máquina de coser. Tinha a certeza que à sua passagem se excitavam os sentidos de quem a via, tal como acontecia com os seus, por isso achava estranho não encontrar um torvelinho de pretendentes à volta de Ester Lucero. Vivia atormentado por sentimentos enrolados: receios naturais de todos os homens, uma constante melancolia - fruto do desespero - e a febre do inferno que o atacava à hora da sesta, quando imaginava a menina nua e úmida chamando-o da sombra do quarto com gestos obscenos. Ninguém soube dos seus atormentados estados de ânimo. O controlo que exercia sobre si mesmo tornou-se uma segunda natureza e assim adquiriu fama de homem bom. Finalmente, as matronas da aldeia cansaram-se de procurar noiva para ele e acabaram por aceitar que o médico era um pouco esquisito.
- Não parece maricas - cochicharam -, mas talvez a malária ou a bala que tem no entrepernas lhe tenha tirado para sempre o gosto pelas mulheres.
Angel Sánchez amaldiçoava sua mãe, que o tinha trazido ao mundo vinte anos mais cedo, e ao seu destino, que lhe semeara o corpo e a alma com tantas cicatrizes. Pedia que algum capricho da natureza alterasse a harmonia e apagasse a luz de Ester Lucero, para que ninguém suspeitasse que era a mulher mais formosa deste mundo e de qualquer outro. Por isso, na quinta-feira fatídica, quando a levaram para o hospital numa maca com a avó a caminhar à frente e uma procissão de curiosos atrás, o doutor deu um grito visceral, quando tirou o lençol e viu a jovem trespassada por uma ferida horrível, julgou que de tanto desejar que ela nunca pertencesse a nenhum homem tinha provocado aquela catástrofe.
- Trepou à mangueira do pátio, escorregou e caiu espetada na estaca onde atamos o ganso - explicou a avó.
- Pobrezinha, ficou atravessada como um vampiro. Não foi nada fácil descravá-la - esclareceu um vizinho que ajudava a transportar a maca. Ester Lucero fechou os olhos e queixou-se muito ao de leve. Desde esse instante, Angel Sánchez bateu-se em duelo pessoal contra a morte. Fez tudo para salvar a jovem.
Operou-a, deu-lhe injecções, fez-lhe transfusões, deu-lhe o seu próprio sangue, encheu-a de antibióticos, mas dois dias passados era evidente que a vida escapava pela ferida como uma corrente imparável. Sentado numa cadeira junto da moribunda, esmagado pela tensão e pela tristeza, apoiou a cabeça aos pés da cama e por alguns minutos dormiu que nem um recém-nascido.
Enquanto ele sonhava com moscas gigantescas, ela andava perdida nos pesadelos da sua agonia, e assim se encontraram numa terra de ninguém e no seu sono partilhado ela agarrou-se à mão dele para lhe pedir que não se deixasse vencer pela morte e que não a abandonasse. Angel Sánchez acordou sobressaltado pela recordação nítida do Negro Rivas e do absurdo milagre que lhe devolveu a vida. Saiu a correr e tropeçou no corredor com a avó, que estava enfronhada num murmúrio de intermináveis orações.
- Continue a rezar, que eu volto daqui a um quarto de hora! - gritou ao passar.
Dez anos antes, quando Angel Sánchez marchava com os seus companheiros pela selva, com a vegetação até aos joelhos e a tortura inconsolável dos mosquitos e do calor, encurralados, atravessando o país em todas as direções para fazer emboscadas aos soldados da ditadura, quando não eram mais que um punhado de loucos visionários com o cinturão carregados de balas, o bornal de poemas e a cabeça de ideias, quando levavam meses sem cheirar mulher ou esfregar sabão pelo corpo, quando a fome e o medo eram uma segunda pele e a única coisa que os mantinha em movimento era o desespero, quando viam inimigos em todo o lado e desconfiavam até das próprias sombras, então o Negro Rivas caiu por um barranco e rolou oito metros até ao abismo, espalmando-se sem ruído, como um saco de trapos. Os companheiros gastaram vinte minutos a descer por cordas entre pedras aguçadas e troncos retorcidos, até o encontrar enfiado no matagal, e quase duas horas para o içar, ensopado em sangue.
O Negro Rivas, um moreno valente e alegre, com a canção sempre pronta nos lábios e boa disposição para carregar às costas outro combatente mais débil, estava aberto como uma romã, com as costelas à mostra e um golpe profundo que começava no ombro e acabava a meio do peito. Sánchez levava consigo a sua maleta para emergências, mas aquilo estava fora dos seus modestos recursos. Sem a menor esperança suturou a ferida, ligou-a com tiras de gaze e administrou os remédios disponíveis. Colocaram o homem sobre um bocado de lona estendida entre dois paus e transportaram-no assim, revezando-se para o carregar, até que foi evidente que cada sacudidela era um minuto a menos de vida, porque o Negro Rivas supurava como uma fonte e delirava com iguarias, seios de mulher e furacões de sal.
Estavam planeando acampar para o deixar morrer em paz, quando alguém viu na margem de uma lagoa de água negra, dois índios que brigavam amigavelmente. Um pouco mais à frente, escondida no vapor denso da selva, estava a aldeia. Era uma tribo imobilizada em idade remota, sem mais contacto com este século do que algum missionário atrevido que tivesse ido falar-lhes sem êxito das leis de Deus e, o que é mais grave, sem nunca ter ouvido falar da Insurreição nem ter escrito o grito de Pátria ou Morte. Apesar destas diferenças e da barreira da língua, os índios compreenderam que aqueles homens exaustos não representavam grande perigo e deram-lhe tímidas boas-vindas. Os rebeldes apontaram para o moribundo. O que parecia ser o chefe levou-os a uma cabana na penumbra eterna, onde flutuava uma pestilência de urinas e lodo. Ali deitaram o Negro Rivas sobre uma esteira, rodeado pelos seus companheiros e por toda a tribo. Pouco depois, chegou o bruxo em trajes de cerimônia. O comandante espantou-se ao ver os seus colares de peonias, os seus olhos de fanático e a crosta de imundície no seu corpo, mas Angel Sánchez explicou que já muito pouco se podia fazer pelo ferido e qualquer coisa que o feiticeiro conseguisse - ainda que fosse só ajudá-lo a morrer - era melhor que nada. O comandante ordenou aos homens que baixassem as armas e fizessem silêncio para aquele estranho sábio meio nu poder exercer o ofício sem distracções.
Duas horas mais tarde a febre tinha desaparecido e o Negro Rivas podia beber água. No dia seguinte voltou o curandeiro e repetiu o tratamento. Ao anoitecer, o enfermo estava sentado a comer uma espessa papa de milho e dois dias depois ensaiava os primeiros passos pelos arredores, com a ferida em pleno processo de cura. Enquanto os outros guerrilheiros acompanhavam os progressos do convalescente, Angel Sánchez percorreu a zona com o bruxo juntando plantas na sua bolsa.
Anos depois, o Negro Rivas chegou a ser chefe da Polícia na capital e só se recordava que estivera prestes a morrer ao tirar a camisa para abraçar uma mulher nova, que invariavelmente lhe perguntava o que era aquilo, a grande costura que o partia em dois.
- Se um índio em pelota salvou o Negro Rivas, eu vou salvar Ester Lucero, nem que tenha de fazer pacto com o Diabo - concluiu Angel Sánchez enquanto dava volta à casa à procura das ervas que guardara durante todos aqueles anos e que, até àquele momento, esquecera por completo. Encontrou-as embrulhadas em papel de jornal, ressequidas e quebradiças, no fundo de um baú desconjuntado, junto ao seu caderno de versos, à boina e outras recordações de guerra.
O médico regressou ao hospital a correr que nem um perseguido, debaixo do calor de chumbo que derretia o asfalto. Subiu as escadas aos saltos e entrou pelo quarto de Ester Lucero a escorrer suor. A avó e a enfermeira de turno viram-no passar a correr e aproximaram-se para espreitar pelo postigo da porta. Observaram como tirava a bata branca, a camisa de algodão, as calças escuras, as peúgas compradas no contrabando e os sapatos de sola de borracha que costumava calçar.
Horrorizadas, viram-no tirar também as cuecas e ficar nu, como um recruta.
- Santa Maria, Mãe de Deus! - exclamou a avó.
Através do postigo puderam ver o doutor quando empurrava a cama até ao centro do quarto e, depois de pôr ambas as mãos sobre a cabeça de Ester Lucero durante alguns segundos, iniciar um frenético bailado à volta da enferma. Levantava os joelhos até tocar no peito, efectuava profundas inclinações, agitava os braços e fazia grotescas caretas, sem perder por um único instante o ritmo interior que lhe punha asas nos pés. E durante uma hora não parou de dançar como um louco, esquivando-se das garrafas de oxigénio e dos frascos de soro.
Depois tirou umas folhas secas do bolso da bata, colocou-as numa bacia, esmagou-as com o punho até as reduzir a um pó grosso, cuspiu em cima abundantemente, misturou tudo para fazer uma pasta e aproximou-se da moribunda. As mulheres viram-no tirar as ligaduras e, tal como notificou a enfermeira no seu relatório, untar a ferida com aquela mistura asquerosa, sem a menor consideração pelas leis da higiene nem pelo facto de exibir as suas vergonhas nuas. Terminada a cura, o homem caiu sentado no chão, totalmente exausto, mas iluminado por um sorriso de santo.
Se o doutor Angel Sánchez não fosse o diretor do hospital e um herói indiscutível da Revolução, ter-lhe-iam enfiado um colete de forças e mandado sem mais trâmites para o manicómio.
Mas ninguém se atreveu a deitar abaixo a porta que ele trancou com o ferrolho e quando o alcaide resolveu fazê-lo com a ajuda dos bombeiros, já tinham passado catorze horas e Ester Lucero estava sentada na cama, de olhos abertos, contemplando divertida o tio Angel, que tinha voltado a despojar-se da sua roupa e iniciava a segunda etapa do tratamento com novas danças rituais. Dois dias mais tarde, quando chegou a Comissão do Ministério da Saúde enviada especialmente da capital, a doente passeava pelo corredor pelo braço da avó, toda a população desfilava pelo terceiro piso para ver a rapariga ressuscitada e o diretor do hospital, vestido com impecável correcção, recebia os colegas à sua secretária. A Comissão absteve-se de pedir pormenores sobre as inusitadas danças do médico e dedicou a sua atenção a perguntar sobre as maravilhosas plantas do bruxo.
Passaram anos desde que Ester Lucero caiu da mangueira. A jovem casou-se com um inspector do ambiente e foi viver para a capital, onde deu à luz uma menina com ossos de alabastro e olhos escuros. E Ao tio Angel, manda-lhe de vez em quando nostálgicas cartas salpicadas de horrores ortográficos. O Ministério da Saúde organizou quatro expedições para procurar as ervas portentosas na seiva, sem nenhum êxito. A vegetação engoliu a aldeia indígena e com ela a esperança de um medicamento científico contra os acidentes irremediáveis.
O doutor Angel Sánchez ficou sozinho, sem mais companheiros que a imagem de Ester Lucero que o visita no seu quarto à hora da sesta, abrasando a sua alma numa bacanal perpétua. O prestígio do médico aumentou muito em toda a região, porque o ouvem falar com os astros em línguas aborígenes.
12 - Maria, a tonta
Maria, a tonta, acreditava no amor. Isso fez dela uma lenda viva. Ao seu enterro foram todos os vizinhos, até os polícias e o cego do quiosque, que raramente abandonava o negócio. A Rua República ficou vazia e, em sinal de luto, penduraram cintas negras nas varandas e apagaram as luzes vermelhas das casas. Todas as pessoas têm a sua história e naquele bairro são quase sempre tristes, histórias de pobrezas e injustiças acumuladas, de violências sofridas, de filhos mortos antes de nascer e de amantes que se vão embora, mas a de Maria era diferente, tinha um brilho elegante que punha a voar a imaginação dos outros. Lá se arranjou para exercer o seu ofício sozinha, administrando-se sem alvoroço, discretamente.
Nunca teve a menor curiosidade pelo álcool ou pelas drogas, nem sequer se interessava pelos consolos de cinco pesos que as adivinhas e as profetas da vizinhança vendiam. Parecia estar a salvo dos tormentos da esperança, protegida pela qualidade do seu amor inventado. Era uma mulherzinha de aspecto inofensivo, de pequena estatura, feições e gestos finos, toda ela mansidão e suavidade, mas sempre que algum chulo tentou pôr-lhe a mão em cima encontrou pela frente uma fera furiosa, garras afiadas e caninos, disposta a devolver cada golpe, nem que morresse.
Aprenderam a deixá-la em paz. Enquanto as outras mulheres passavam a vida a esconder equimoses debaixo de espessas camadas de maquilhagem barata, ela envelhecia respeitada, com um certo ar de rainha em farrapos. Não tinha nenhuma consciência do prestígio do seu nome nem da lenda que tinham tecido nas suas costas. Era uma prostituta velha com alma de donzela.
Nas suas recordações figuravam constantemente um baú assassino e um homem moreno com cheiro a mar, e assim as suas amigas descobriram um a um os retalhos da sua vida e ligaram-nos com paciência, acrescentando o que faltava com recursos de fantasia, até lhe reconstruir um passado. Não era, de maneira nenhuma, como as outras mulheres daquele lugar.
Vinha de um mundo remoto, onde a pele é mais pálida e o castelhano tem um acento redondo, de consoantes duras. Nasceu para grande dama, isso deduziam as outras mulheres pela sua forma rebuscada de falar e pelos seus modos estranhos, e se alguma dúvida havia, ao morrer desapareceu. Partiu com a dignidade intacta. Não padecia de nenhuma doença conhecida, não estava assustada nem respirava pelos ouvidos como os moribundos comuns, anunciou simplesmente que já não suportava mais o tédio de estar viva, pôs o seu vestido de festa, pintou os lábios de vermelho e abriu as cortinas de tule que davam acesso ao seu quarto, para que todos pudessem acompanhá-la.
- Agora chegou a altura de eu morrer - foi a sua única explicação. Recostou-se na cama, com as costas apoiadas sobre três almofadões, com fronhas engomadas para a ocasião, e bebeu sem respirar um grande jarro de chocolate espesso. As outras mulheres riram-se, mas quando quatro horas depois não houve maneira de a despertar, compreenderam que a sua decisão era absoluta e fizeram correr a notícia pelo bairro. Alguns acudiram só por curiosidade, mas a maioria apresentou-se com verdadeira aflição, ficando ali para a acompanhar. As suas amigas coaram café para oferecer às visitas, porque lhes pareceu de mau gosto servir licor, não fossem confundir aquilo com uma celebração. Lá pelas seis da tarde, Maria teve um estremecimento, abriu as pálpebras, olhou à sua volta sem distinguir os rostos e, em seguida, abandonou este mundo. Foi tudo. Alguém sugeriu que talvez tivesse engolido veneno com o chocolate, nesse caso seriam culpados por não a terem levado a tempo para o hospital, mas ninguém prestou atenção a tais maledicências.
- Se Maria decidiu partir, estava no seu direito, porque não tinha filhos nem pais para cuidar - sentenciou a senhora da casa.
Não quiseram velá-la num estabelecimento funerário, porque a quietude premeditada da sua morte foi um êxito solene na Rua República e era justo que as suas últimas horas antes de baixar à terra se passassem no ambiente onde tinha vivido e não como uma estrangeira de cujo luto ninguém quer tomar conta. Houve opiniões sobre se velar mortos naquela casa atraía a desgraça para a alma da defunta ou as dos clientes, e por isso quebraram um espelho para rodear o caixão e trouxeram água benta da capela do seminário para salpicar pelos cantos.
Naquela noite não se trabalhou ali, não houve música nem risadas, mas também não houve prantos. Puseram o caixão sobre uma mesa na sala, os vizinhos emprestaram cadeiras e ali se acomodaram os visitantes a tomar café e a conversar em voz baixa. No centro estava Maria com a cabeça apoiada sobre uma almofada de cetim, as mãos cruzadas e a fotografia do seu menino morto sobre o peito. Durante a noite foi-se-lhe mudando o tom de pele, até acabar escura como o chocolate.
Eu soube da história de Maria durante essas longas horas em que velámos o seu ataúde. As suas companheiras contaram que nasceu nos primeiros tempos da Primeira Guerra, numa província do Sul do continente, onde as árvores perdem as folhas na metade do ano e o frio enregela os ossos. Era filha de uma soberba família de emigrantes espanhóis. Ao revistar o seu quarto encontraram numa caixa de bolachas alguns papéis quebradiços e amarelos, entre eles um certificado de nascimento, fotografias e cartas. O pai fora proprietário de uma fazenda e, segundo um recorte de jornal desbotado pelo tempo, a mãe havia sido pianista antes de casar. Quando Maria tinha doze anos, atravessou distraída um cruzamento de caminho de ferro e um comboio de carga atropelou-a. Tiraram-na de entre os carris sem danos aparentes, tinha só alguns arranhões e havia perdido o chapéu. No entanto, pouco tempo depois todos puderam ter a prova de que o impacte transportara a menina a um estado de inocência da qual já nunca regressaria. Esqueceu até os rudimentos escolares aprendidos antes do acidente, apenas recordava algumas lições de piano e o uso da agulha de coser, e quando lhe falavam ficava como ausente. Mas não esqueceu as normas do civismo, que conservou intactas até ao último dia.
A pancada da locomotiva deixou Maria incapacitada para o raciocínio, a atenção ou o rancor. Estava, no entanto, bem preparada para a felicidade, mas não foi essa a sua sorte. Ao fazer dezasseis anos, os pais, desejosos de passar a outro a carga daquela filha um pouco atrasada, decidiram casá-la antes que a beleza murchasse e escolheram um tal doutor Guevara, homem de vida retirada e maldisposto para o casamento, mas como lhes devia algum dinheiro não pôde dizer que não quando lhe propuseram o enlace. Nesse mesmo ano celebrou-se a boda em privado, como estava de acordo com uma noiva lunática e um noivo várias décadas mais velho.
Maria chegou ao leito matrimonial com a mente de uma criança, embora o corpo tivesse amadurecido e já fosse mulher. O comboio arrasara a sua curiosidade natural, mas não pudera destruir-lhe a impaciência dos sentidos. Só contava com o que aprendera a observar os animais da fazenda, sabia que a água fria era boa para separar os cães que ficam enganchados durante o coito e que o galo abre as penas e cacareja quando quer montar uma galinha, mas não encontrou uso adequado para esses dados. Na sua noite de núpcias viu avançar um velhote todo a tremer com uma camisa de flanela, aberta, e qualquer coisa imprevista debaixo do umbigo. A surpresa produziu-lhe um estremeção do qual não se atreveu a falar e quando começou a inchar como um balão, bebeu um frasco de água de Margarita, remédio antiescrufuloso e reconstituinte, que em grande quantidade funcionava como uma purga, por causa do qual passou vinte e dois dias no penico, tão descomposta que quase perdeu os órgãos vitais, mas isso não conseguiu desinchá-la. Começou a não poder abotoar os vestidos e em devido tempo deu à luz um menino ruivo. Depois de um mês de cama, alimentando-se com caldo de galinha e dois litros de leite por dia, levantou-se mais forte e lúcida do que nunca tinha estado na vida. Parecia curada do seu estado de sonambulismo constante e até teve forças para comprar roupa elegante; no entanto, não conseguiu brilhar com o seu novo enxoval, porque o senhor Guevara sofreu um ataque fulminante e morreu sentado à mesa, com a colher de sopa na mão. Maria acabou por usar trajes de luto e chapéus como véu, enterrada numa tumba de trapos. Passou dois anos assim, de luto carregado, fazendo xailinhos para os pobres, entretida com os seus cães rafeiros e com o filho, a quem penteava com caracóis e vestia de menina, tal como aparece num dos retratos encontrados na caixa de bolachas, onde o podemos ver sentado sobre uma pele de urso e iluminado por um raio sobrenatural.
Para a viúva o tempo parou num momento perpétuo, o ar dos quartos permaneceu imutável, com o mesmo cheiro velho que deixara o marido. Continuou a viver na mesma casa, cuidada por criados leais e vigiada de perto pelos pais e irmãos, que faziam turnos para a visitar todos os dias, supervisar os seus gastos e tomar até as mais pequenas decisões. Passavam estações, caíam as folhas das árvores no jardim e voltavam a aparecer os colibris do Verão, sem mudanças na sua rotina. Às vezes perguntava a causa dos seus vestidos negros, porque tinha esquecido o esposo decrépito que umas duas vezes a abraçara debilmente entre os lençóis de linho, para logo arrependida da sua luxúria cair aos pés de Nossa Senhora e se açoitar com um chicote de cavalo. De vez em quando abria o armário para sacudir os vestidos e não resistia à tentação de despir as suas roupas escuras e provar às escondidas os trajes bordados de pedrarias, as estolas de pele, os sapatos de cetim e as luvas de pelica. Olhava-se na tripla lua do espelho e saudava aquela mulher ataviada para um baile na qual lhe custava muito reconhecer-se.
Ao fim de dois anos de solidão, o rumor do sangue fervendo no seu corpo tornou-se insuportável. Aos domingos, à porta da igreja, atrama-se para ver passar os homens, atraída pelo som rouco das suas vozes, as suas faces barbeadas e o aroma do tabaco. Disfarçadamente levantava o véu do chapéu e sorria-lhes. O pai e os irmãos não tardaram a notar isso e convencidos de que aquela terra americana corrompia até a decência das viúvas, decidiram, em conselho de família, enviá-la para Espanha, onde moravam uns tios, onde sem dúvida estaria a salvo das tentações frívolas, protegida pelas sólidas tradições e pelo poder da Igreja. Assim começou a viagem que mudaria o destino de Maria, a tonta.
Os pais embarcaram-na num transatlântico acompanhada pelo seu filho, uma criada e os cães rafeiros. A complicada bagagem incluía, além dos móveis do quarto de Maria e do piano, uma vaca que ia no porão do barco, para fornecer leite fresco para o menino. Entre muitas malas e caixas de chapéus, também levava um baú com cantos e rebites de bronze, que guardava os vestidos de festa tirados da naftalina. A família pensava que em casa dos tios Maria não teria oportunidade alguma de os usar, mas não quiseram contrariá-la. Nos três primeiros dias a viajante não pôde abandonar o seu beliche, vencida pelo enjoo, mas finalmente habituou-se ao balanço do barco e conseguiu levantar-se. Então chamou a criada para a ajudar a pôr a roupa em ordem para a longa travessia.
A existência de Maria foi marcada por desgraças súbitas, como aquele comboio que lhe levou o espírito e a mandou para uma infância irreversível. Estava a pôr os vestidos em ordem no armário da cabina quando o menino espreitou para dentro do baú aberto. Naquele momento, uma sacudidela do navio fechou de golpe a pesada tampa e a lâmina metálica deu no pescoço da criança, decapitando-a. Foram precisos três marinheiros para arrancar a mãe do baú maldito e uma dose de láudano capaz de tombar um atleta para impedir que arrancasse o cabelo aos bocados e destroçasse a cara com as unhas. Passou horas a uivar e depois entrou num estado crepuscular, balançando-se de um lado para o outro, como nos tempos em que ganhou fama de idiota.
O capitão do navio anunciou a triste notícia por um altifalante, leu um breve responso e depois deu ordens para envolver o pequeno cadáver com uma bandeira e lançá-lo pela borda, porque já estavam no meio do oceano e não tinha meios de o conservar até ao próximo porto.
Vários dias depois da tragédia, Maria saiu com passo incerto a tomar ar na coberta pela primeira vez. Era uma noite morna, do fundo do mar subia um odor inquietante de algas, de marisco, de barcos submersos, que lhe entrou pelas narinas e lhe percorreu as veias com o efeito de uma sacudidela telúrica. Estava a olhar o horizonte, com o espírito em branco e a pele arrepiada desde os calcanhares até à nuca, quando ouviu um silvo insistente. Ao fazer meia volta descobriu, dois pisos mais abaixo, uma silhueta iluminada pela Lua, fazendo-lhe sinais. Desceu a escadinha em transe. Aproximou-se do homem moreno que a chamava.
Submissa, deixou que ele lhe tirasse os véus e as roupas de luto e acompanhou-o até atrás de um rolo de cordas.
Fustigada por impacte semelhante ao do comboio, aprendeu em menos de três minutos a diferença entre um marido ancião, tomado pelos temores de Deus, e um insaciável marinheiro grego a arder pela penúria de várias semanas de castidade oceânica.
Deslumbrada, a mulher descobriu as suas próprias possibilidades, limpou as lágrimas e pediu-lhe mais. Passaram parte da noite a conhecer-se e só se separaram quando ouviram a sirene de emergência, um terrível bramido de naufrágio que alterou o silêncio dos peixes. Pensando que a mãe inconsolável se havia atirado ao mar, a criada tinha dado o alarme e toda a tripulação a procurava, menos o grego.
Maria juntou-se ao seu amante todas as noites detrás das cordas, até que o navio se aproximou das costas do Caribe e o perfume doce das flores e frutos que a brisa arrastava acabou por lhe perturbar os sentidos.
Aceitou então a proposta do seu companheiro de abandonar o navio, onde penava o fantasma do menino morto e onde havia tantos olhos a expiá-los, meteu o dinheiro da viagem na bainha da saia e despediu-se do seu passado de senhora respeitável.
Fizeram descer um bote e desapareceram ao amanhecer, deixando a criada a bordo, os cãezinhos, a vaca e o baú assassino. O homem remou com os seus braços fortes de navegante até um porto admirável, que lhes surgiu em frente dos olhos ao nascer do Sol como uma aparição de outro mundo, com os seus ranchos, as suas palmeiras e os seus pássaros de variadas cores. Ali se instalaram os dois fugitivos enquanto lhes durou a reserva do dinheiro.
O marinheiro mostrou-se brigão e bebedor. Falava numa algaraviada incompreensível para Maria e para os habitantes daquele lugar, mas fazer-se entender por caretas e sorrisos.
Ela só acordava quando ele aparecia para praticar com ela as acrobacias aprendidas em todos os lupanares desde Singapura até Valparaíso, e o resto do tempo ficava entontecida por uma languidez mortal. Banhada pelos suores do clima, a mulher inventou o amor sem companheiro, aventurando-se sozinha em territórios alucínantes, com a audácia de quem não conhece qualquer risco. O grego não tinha intuição para adivinhar que havia aberto uma comporta, que ele mesmo não era senão o instrumento de uma revelação, e foi incapaz de dar valor ao presente oferecido por aquela mulher. Tinha a seu lado uma criança preservada no limbo de uma inocência invulnerável, decidida a explorar os seus próprios sentidos com a disposição brincalhona de um cachorro, mas ele não soube acompanhá-la.
Até então, ela não tinha conhecido o desenfado do prazer, nem sequer o imaginara, embora ele sempre tivesse estado no seu sangue como o gérmen de uma febre calcinante. Ao descobri-lo, supôs que se tratava da sorte celestial que as freiras do colégio prometiam, no Além, às meninas bem-comportadas. Sabia muito pouco do mundo e era incapaz de olhar um mapa para se localizar no planeta, mas, ao ver os hibiscos e os papagaios, julgou estar no paraíso e dispôs-se a gozá-lo. Ali ninguém a conhecia, estava à vontade pela primeira vez, longe de casa, da tutela inexorável dos seus pais e irmãos, das pressões sociais e dos véus de missa, livre finalmente para saborear a torrente de emoções que nascia na sua pele e penetrava por cada filamento até às cavernas mais profundas, onde caía em cataratas, deixando-a exausta e feliz.
A falta de malícia de Maria, a sua impermeabilidade ao pecado ou à humilhação acabaram por aterrorizar o marinheiro. As pausas entre cada abraço tornaram-se mais longas, as ausências do homem mais frequentes, cresceu o silêncio entre os dois. O grego tratou de escapar àquela mulher com cara de menina que o chamava sem parar, úmida, cheia, escaldante, convencido de que a viúva que tinha seduzido no alto mar se transformara numa aranha perversa disposta a devorá-lo como a uma mosca no tumulto da cama. Foi em vão que buscou alívio para a sua virilidade amachucada gozando com as prostitutas, batendo-se à facada e a murro com os chulos e apostando em lutas de galos o que lhe restava das borgas. Quando se encontrou com os bolsos vazios, agarrou-se a essa desculpa para desaparecer para sempre. Maria esperou-o com paciência durante várias semanas.
Pela rádio tinha às vezes notícias de que um marinheiro francês, desertor de um barco britânico, ou um holandês fugido de um navio português, tinha sido assassinado à navalhada nos bairros bravos do porto, mas ela ouvia a notícia sem se alterar, porque esperava um grego vindo de um transatlântico italiano. Quando já não podia suportar o calor dos ossos e a ansiedade da alma, saiu à rua para pedir consolo ao primeiro homem que passasse. Agarrou-o pela mão e pediu-lhe do modo mais gentil e educado que lhe fizesse o favor de se despir para ela.
O desconhecido vacilou um pouco em frente daquela jovem que em nada se parecia com as profissionais da vizinhança, mas cuja proposta era muito clara, apesar da linguagem desusada.
Calculou que podia gastar dez minutos do seu tempo com ela e seguiu-a, sem suspeitar que se ia ver afogado no torvelinho de uma paixão sincera. Espantado e comovido, foi contar tudo a toda a gente, deixando a Maria uma nota sobre a mesa. Depois chegaram outros, atraídos pelo boato de que havia uma mulher capaz de vender por um instante a ilusão do amor. Todos os clientes saíram satisfeitos. Foi assim que Maria se tornou a prostituta mais célebre do porto, cujo nome os marinheiros levavam tatuado nos braços para o dar a conhecer noutros mares, até que a lenda deu a volta ao planeta.
O tempo, a pobreza e o esforço de iludir o desencanto destruíram a frescura de Maria. A pele ficou-lhe pardacenta, emagreceu até aos ossos, para maior comodidade cortou o cabelo como um preso, mas manteve as suas maneiras elegantes e o mesmo entusiasmo em cada encontro com um homem, porque não via neles pessoas anónimas, mas o reflexo de si própria nos braços do seu amante imaginário. Confrontada com a realidade, não era capaz de perceber a sórdida urgência do companheiro de turno, porque em todas as ocasiões se entregava com o mesmo irrevogável amor, adiantando-se, como uma noiva atrevida, aos desejos do outro. Com a idade, a memória desordenou-se-lhe, dizia coisas disparatadas e para a época em que se mudou para a capital e se instalou na Rua República, não se recordava de ter sido alguma vez a musa Inspiradora de tantos versos improvisados por navegantes de todas as raças e ficava perplexa quando algum viajava do porto até à cidade só para comprovar se ainda existia aquela de quem tinha ouvido falar algures na ásia. Ao verem-se em frente daquele gafanhoto, daquele montão de ossos patéticos, daquela mulherzinha de nada, a verem a lenda reduzida a escombros, muitos davam meia volta e iam embora desconcertados, mas havia outros que ficavam, por pena. Estes recebiam um prêmio Inesperado. Maria fechava a cortina de tule e a qualidade do ar da sala mudava-se. Mais tarde o homem partia maravilhado, levando a imagem de uma rapariga mitológica e não a da velha lastimosa que a princípio pensou ver.
Para Maria o passado foi-se apagando - a única recordação nítida era o terror de comboios e baús - e se não tivesse sido pela tenacidade das suas companheiras de ofício ninguém teria conhecido a sua história.
Viveu à espera do momento em que se abrisse a cortina do seu quarto para dar passagem ao marinheiro grego, ou a qualquer outro fantasma nascido da sua fantasia, que a apertasse no círculo preciso dos seus braços para lhe devolver o prazer compartilhado na coberta do barco no alto mar, procurando sempre a antiga ilusão em cada homem de passagem, iluminada por um amor imaginário, enganando as sombras com abraços passageiros, como chispas que se consumiam antes de arder, e quando se cansou de esperar em vão e sentiu que também a alma se lhe cobria de escamas, decidiu que era melhor deixar este mundo.
E com a mesma delicadeza e consideração de todos os seus actos, recorreu então ao jarro de chocolate.
13 - Mais esquecido do esquecimento
Ela deixou-se acariciar, silenciosa, gotas de suor na cintura, cheiro a açúcar queimado no corpo quieto, como se adivinhasse que um só o podia mexer nas suas recordações e deitar tudo a perder, esse momento em que ele era uma pessoa como todas, um casual que conheceu de manhã, outro homem sem história pelo seu cabelo de palha, a sua pele sardenta ou a grande chocada das suas pulseiras de cigana, um outro que a abordou na rua e desatou a andar com ela sem rumo preciso, a fazer comentários sobre o tempo ou o tráfego e observando a multidão, com aquela confiança um pouco forçada dos compatriotas em terra estranha, um homem sem tristeza, nem rancores, nem culpas, límpido como o gelo, que desejava simplesmente passar o dia com ela a vaguear por livrarias e parques, tomando café, celebrando a sorte de se terem conhecido, falando de nostalgias antigas, de como era a vida quando ambos cresciam na mesma cidade, no mesmo bairro, quando tinha catorze anos, lembras-te, os Invernos de sapatos molhados pela geada e os aquecedores de petróleo, os Verões de pêssegos, lá no país proibido. Talvez se sentisse um pouco sozinha ou lhe parecesse que era uma oportunidade de fazer amor sem perguntas e por isso, ao fim da tarde, quando já não tinha mais pretextos para continuar a caminhar, ela pegou-lhe na mão e levou-o a casa. Partilhava com os outros exilados um apartamento sórdido, num edifício amarelo no fim de uma ruela cheia de latas de lixo. O seu quarto era estreito, um colchão no chão coberto com uma manta às riscas, prateleiras feitas com tábuas apoiadas em fileiras de tijolos, livros, cartazes, roupa sobre uma cadeira, uma maleta a um canto. Foi ali que ela tirou a roupa sem preâmbulos, com atitude de menina complacente.
Ele fez por amá-la. Percorreu-a com paciência, resvalando pelas suas colinas e ribanceiras, abordando sem pressa os seus caminhos, amassando-a, suave argila sobre os lençóis, até que ela se entregou, aberta. Então ele recuou com muda reserva.
Ela voltou-se para o procurar, esquecida sobre o ventre do homem, escondendo a cara, como que empenhada no pudor, enquanto o apalpava, o lambia e o fustigava. Ele quis abandonar-se de olhos fechados e deixou-a fazer por um instante, até que a tristeza o venceu, ou a vergonha, e teve de a afastar. Acenderam outro cigarro, já não era cumplicidade, tinha-se perdido a antecipada urgência que os unira durante esse dia, e só ficavam sobre a cama duas pessoas desvalidas, com a memória ausente flutuando no vazio terrível de tantas palavras caladas. Ao conhecerem-se nessa manhã, não ambicio-naram nada de extraordinário, não tinham pretendido muito, apenas um pouco de companhia e um pouco de prazer, nada mais, mas na hora do encontro foram vencidos pelo desconsolo.
Estamos cansados, sorriu ela, pedindo desculpa por aquele peso instalado entre os dois. No último esforço de ganhar tempo, ele tomou a cara da mulher entre as mãos e beijou-lhe as pálpebras. Estenderam-se lado a lado, de mão dada, e falaram das suas vidas naquele país onde se encontravam por casualidade, um lugar verde e generoso onde, no entanto, seriam sempre estrangeiros. Ele pensou em vestir-se e dizer-lhe adeus, antes que a tarântula dos seus pesadelos lhes envenenasse o ar, mas vendo-a jovem e vulnerável quis ser seu amigo. Amigo, pensou, não amante, amigo para partilhar alguns momentos de sossego, sem exigências nem compromissos, amigo para não estar sozinho e para combater o medo. Não decidiu partir nem soltar-lhe a mão. Um sentimento cálido e brando, uma tremenda compaixão por si mesmo e por ela fez-lhe arder os olhos. A cortina enfunou como uma vela e ela levantou-se para fechar a janela, imaginando que a obscuridade os podia ajudar a recuperar as forças para estarem juntos e o desejo de se abraçarem. Mas não foi assim, ele necessitava desse reflexo da luz da rua, para não se sentir apanhado de novo no abismo dos noventa centímetros sem tempo da cela, fermentando nos seus próprios excrementos, demente. Deixa a cortina aberta, quero ver-te, mentiu-lhe, porque não se atreveu a confiar-lhe o terror da noite, aquando o venciam de novo a sede, a ligadura apertada na cabeça como uma coroa de espinhos, as visões de cavernas e o assalto de tantos fantasmas. Não podia falar-lhe disso, porque uma coisa leva a outra e acaba por se dizer o que nunca se disse. Ela voltou para a cama, acariciou-o sem entusiasmo, passou-lhe os dedos pelas estranhas marcas, explorando-as. Não te preocupes, não é nada contagioso, são só cicatrizes, riu ele quase num soluço. A rapariga percebeu o seu tom angustiado e deteve-se, o gesto suspenso, alerta.
Nesse momento, ele devia dizer-lhe que aquilo não era o começo de um novo amor, nem sequer de uma paixão passageira, era apenas um instante de trégua, um breve momento de Inocência, e que dentro em pouco, quando ela adormecesse, ir-se-ia embora; devia dizer-lhe que não haveria planos para eles, nem telefonemas furtivos, não deambulariam juntos outra vez de mão dada pelas ruas, nem partilhariam jogos de amantes, mas não conseguiu falar, a voz ficou-lhe agarrada ao ventre como uma garra. Soube que se afundava. Quis segurar a realidade que lhe fugia, ancorar o espírito em qualquer coisa, na roupa em desordem em cima da cadeira, nos livros empilhados no chão, no cartaz do Chile na parede, na frescura daquela noite do Caribe, no ruído surdo da rua; tentou concentrar-se naquele corpo oferecido e pensar apenas no cabelo espalhado da jovem, no seu cheiro doce. Suplicou-lhe sem voz que, por favor, o ajudasse a salvar aqueles segundos, enquanto ela o observava da ponta mais afastada da cama, sentada como um faquir, os claros mamilos e o olho do umbigo olhando-o também, registando o seu tremor, o bater dos dentes, o gemido. O homem ouviu o silêncio crescer no seu interior, soube que a alma se lhe partia, como tantas vezes lhe acontecera antes, e deixou de lutar, soltando a última amarra ao presente, caindo a rebolar por um desfiladeiro inacabável. Sentiu as correias enterradas nos tornozelos e nos pulsos, a descarga brutal, os tendões rebentados, as vozes a insultar exigindo nomes, os gritos inesquecíveis de Ana torturada a seu lado e dos outros, pendurados no pátio, pelos braços.
Que se passa, meu Deus, que se passa contigo?, chegou-lhe de longe a voz de Ana. Não, Ana ficou atolada nos pantanais do Sul. Julgou ver uma desconhecida nua, que o sacudia e o chamava pelo nome, mas não conseguiu desprender-se das sombras onde se agitavam chicotes e bandeiras. Encolhido, tentou controlar as náuseas. Começou a chorar por Ana e pelos outros.
Que se passa contigo?, a rapariga a chamá-lo outra vez, de qualquer parte. Nada, abraça-me!... pediu e ela aproximou-se tímida e envolveu-o nos seus braços, embalou-o como a um menino, beijou-lhe a testa, disse-lhe chora, chora, estendeu-o de costas sobre a cama e deitou-se crucificada sobre ele.
Ficaram mil anos assim abraçados, até que lentamente se afastaram as alucinações e ele regressou ao quarto, para se descobrir vivo apesar de tudo, respirando, palpitando com o peso dela a descansar no seu peito, os braços e as pernas dela sobre os seus, dois órfãos apavorados. E, nesse instante, como se soubesse tudo, ela disse-lhe que o medo é mais forte que o desejo, o amor, o ódio, a culpa, a raiva, mais forte que a lealdade. O medo é qualquer coisa total, concluiu, com as lágrimas a escorrer pelos seios. Tudo parou para o homem, tocado na ferida mais oculta. Pressentiu que ela não era apenas uma rapariga disposta a fazer amor por comiseração, que ela conhecia aquilo que se encontrava escondido mais para lá do silêncio, da completa solidão, mais para lá da caixa selada onde ele se tinha escondido do coronel e da sua própria traição, mais para lá da recordação de Ana Díaz e dos outros companheiros denunciados, a quem foram traindo um a um de olhos vendados. Como pode saber ela tudo isto? A mulher endireitou-se. O seu braço magro recortou-se contra a bruma clara da janela, procurando o interruptor às apalpadelas.
Acendeu a luz e tirou uma a uma as pulseiras de metal, que caíram sem ruído sobre a cama. O cabelo cobria-lhe metade da cara quando lhe estendeu as mãos. Também a ela, cicatrizes brancas atravessavam os pulsos. Durante um interminável momento, ele observou-as, imóvel, até compreender tudo, amor, e vê-la atada com as correias sobre a grelha eléctrica e então puderam abraçar-se e chorar, famintos de pactos e de confidências, de palavras proibidas, de promessas de amanhãs, partilhando, por fim, o mais recôndito segredo.
14 - O pequeno Heidelberg
Tantos anos dançaram juntos o capitão e a menina Eloísa que alcançou a perfeição. Cada um podia intuir o movimento seguinte do outro, adivinhar o momento exato da própria volta, interpretar a mais subtil pressão da mão ou o desvio de um pé. Não haviam perdido o passo nem uma única vez em quarenta anos, moviam-se com a precisão de um par acostumado a fazer amor e a dormir em estreito abraço, por isso era tão difícil imaginar que nunca tinham chegado a trocar uma única palavra.
O Pequeno Heidelberg é um salão de baile a certa distância da capital, construído num cerro rodeado de plantações de bananeiras, onde além de boa música e de um ar menos quente oferecem um insólito guisado afrodisíaco aromatizado com toda a variedade de especiarias, demasiado contundente para o clima ardente daquela região, mas em perfeito acordo com as tradições que inspiraram o proprietário, Dom Rupert. Antes da crise do petróleo, quando se vivia ainda a ilusão da abundância e se importavam frutos de outras latitudes, a especialidade da casa era o struddel de maça, mas depois que do petróleo ficou apenas um monte de lixo indestrutível e a recordação de tempos melhores, faziam o struddel com goiabas ou mangas. As mesas, dispostas em amplo círculo que deixa no centro um espaço livre para o baile, estão cobertas com toalhas de quadrados verdes e brancos e nas paredes brilham cenas bucólicas da vida campestre dos Alpes: pastoras de tranças amarelas, robustos mocetões e vacas magníficas. Os músicos - vestidos com calções curtos, meias de lã, suspensórios tiroleses e chapéus de feltro, que com o suor perderam a excelência e de longe parecem perucas esverdeadas - ficam sobre uma plataforma coroada por uma águia embalsamada, à qual, segundo diz Dom Rupert, de vez em quando nascem penas novas. Um toca o acordeão, o outro um saxe e o terceiro com pés e mãos consegue tocar simultaneamente a bateria e os pratos. O do acordeão é um mestre no seu instrumento e também canta com voz quente de tenor e um vago acento da Andaluzia.
Apesar do seu disparatado aparato de taberneiro suíço é o favorito das senhoras assíduas do salão, de tal modo que muitas delas acalentam a secreta fantasia de se enrolarem com ele nalguma aventura mortal, por exemplo, uma derrocada ou um bombardeamento, onde dariam contentes o último suspiro envoltas por aqueles braços poderosos, capazes de arrancar tão desgostantes lamentos ao acordeão. O facto de a idade média dessas senhoras andar pelos setenta anos, não inibe a sensualidade evocada pelo cantor, pelo contrário, junta-lhe o doce sopro da morte. A orquestra começa a sua actuação depois do pôr do Sol e termina à meia-noite, excepto aos sábados e domingos, quando o local se enche de turistas e continuam até que o último cliente se retire, de madrugada. Só interpretam polcas, mazurcas, valsas e danças regionais da Europa, como se em vez de estar encravado no Caribe, o Pequeno Heidelberg estivesse nas margens do Reno.
Na cozinha reina Dona Burgel, a esposa de Dom Rupert, uma matrona formidável que poucos conhecem, porque a sua existência desliza entre folhas e molhos de verduras, concentrada em preparar pratos estrangeiros com ingredientes crioulos. Ela inventou o struddel de frutas tropicais e o tal guisado afrodisíaco capaz de devolver o vigor ao mais depauperado. As mesas são atendidas pelas filhas dos donos, um par de sólidas mulheres, perfumadas com canela, cravo de cheiro, baunilha e limão, e por algumas moças da localidade, todas de faces rubicundas. A clientela habitual compõe-se de emigrantes europeus chegados ao país escapando de alguma guerra ou da pobreza, comerciantes, agricultores, artesãos, pessoas amáveis ou simples, que talvez não o tenham sido sempre, mas a quem a passagem da vida tenha nivelado nessa benévola cortesia dos velhos sadios. Os homens põem laços e coletes, mas à medida que as sacudidelas do baile e a abundância de cerveja lhes aquece a alma, vão-se despojando do supérfluo até ficarem em camisa. As mulheres vestem-se de cores alegres e estilo antiquado, como se os seus trajes tivessem sido tirados do baú de noiva que trouxeram ao emigrar. De vez em quando aparece um grupo de adolescentes agressivos, cuja presença é precedida pelo estardalhaço atroador das suas motos e a chocalhada de botas, chaves e correntes, e que chegam com o único propósito de gozar os velhos, mas o incidente não passa de uma escaramuça, porque o músico da bateria e o saxofonista estão sempre dispostos a arregaçar as mangas e impor a ordem.
Aos sábados, lá pelas nove da noite, quando já toda a gente saboreou a sua dose do guisado afrodisíaco e se abandonou ao prazer do baile, aparece a Mexicana que se senta sozinha. É uma cinquentona provocante, mulher de corpo galeão - quilha alta, barriguda, ampla de popa, rosto de carranca de proa - que mostra um decote maduro, mas ainda túmido, e uma flor na orelha. Não é a única vestida de bailarina flamenga, certamente, mas nela fica mais natural que nas outras senhoras de cabelo branco e cintura triste que nem sequer falam um espanhol decente. A Mexicana bailando a polca é um navio à deriva em ondas abruptas, mas ao ritmo da valsa parece deslizar em águas doces. Assim a via por vezes em sonhos o capitão e despertava com a inquietação quase esquecida da sua adolescência. Dizem que o capitão provinha de uma frota nórdica cujo nome ninguém conseguiu decifrar. Era um especialista em barcos antigos e rotas marítimas, mas todos esses conhecimentos jaziam sepultados no fundo da sua mente, sem a menor possibilidade de serem úteis na paisagem quente daquela região, onde o mar é um plácido aquário de águas verdes e cristalinas, impróprio para a navegação dos intrépidos barcos do mar do Norte. Era um homem alto e seco, uma árvore sem folhas, as costas direitas e os músculos do pescoço ainda firmes, vestido com o seu casaco de botões dourados e envolto naquela aura trágica dos marinheiros reformados. Nunca ninguém lhe ouviu uma palavra em espanhol ou em algum outro idioma conhecido. Trinta anos atrás, Dom Rupert disse que o capitão era certamente finlandês, pela cor de gelo das suas pupilas e a justiça irrenunciável do seu olhar, e como ninguém o pôde contradizer, acabaram por aceitá-lo. Além disso, no Pequeno Heidelberg o idioma não tem importância, porque ninguém vai lá para conversar. Algumas regras de comportamento têm sido modificadas, para comodidade e conveniência de todos. Qualquer um pode ir para a pista sozinho ou convidar alguém de outra mesa, e as mulheres também tomam a iniciativa de aproximar-se dos homens, se assim o desejam. É uma solução para as viúvas sem companhia. Ninguém leva a Mexicana para dançar, porque se parte do princípio que ela acharia isso ofensivo, e os cavalheiros devem aguardar, tremendo pela antecipação, que ela o faça. A mulher poisa o cigarro no cinzeiro, descruza as ferozes colunas das suas pernas, ajeita o espartilho, avança até ao escolhido e fica na sua frente sem um olhar. Muda de par em cada dança, mas antes reservava pelo menos quatro peças para o capitão. Ele agarrava-a pela cintura com a sua firme mão de timoneiro e guiava-a pela pista sem permitir que os seus muitos anos lhe cortassem a inspiração.
A mais antiga paroquiana do salão, que em meio século não faltou nem um sábado no Pequeno Heidelberg, era a menina Eloísa, uma dama minúscula, branda e suave, com pele de papel de arroz e uma coroa de cabelos transparentes. Por tanto tempo ganhou a vida a fabricar bombons na cozinha, que o aroma do chocolate a impregnou completamente, deixando-a a cheirar a festa de aniversário. Apesar da idade, ainda mantinha alguns gestos da primeira juventude e era capaz de passar toda a noite às voltas na pista de baile sem despentear os caracóis do carrapito nem perder o ritmo do coração. Tinha chegado ao país nos princípios do século, proveniente de uma aldeia do Sul da Rússia, com a mãe, que nessa altura era de uma beleza deslumbrante. Viveram juntas a fabricar chocolates, completamente alheias aos rigores do clima, do século e da solidão, sem maridos, sem família, sem grandes sobressaltos e sem outra diversão que o Pequeno Heidelberg, todos os fins de semana. Desde que morrera a mãe, a menina Eloísa aparecia sozinha. Dom Rupert recebia-a à porta com grande deferência e acompanhava-a até à mesa, enquanto a orquestra lhe dava as boas-vindas com os primeiros acordes da sua valsa favorita. Em algumas mesas levantavam-se canecas de cerveja para a saudar, porque era a pessoa mais velha e sem dúvida a mais querida. Era tímida, nunca se atreveu a convidar um homem para dançar, mas durante todos aqueles anos não teve necessidade de o fazer, porque para qualquer um representava um privilégio pegar na sua mão, enlaçá-la pela cintura com delicadeza para não lhe desconjuntar qualquer ossinho de cristal e levá-la até à pista. Era uma bailarina graciosa e tinha aquela fragrância doce, capaz de dar a quem a cheirasse as melhores recordações da infância.
O capitão sentava-se sozinho, sempre na mesma mesa, bebia com moderação e não demonstrou nunca nenhum entusiasmo pelo guisado afrodisíaco de Dona Burgel. Seguia o ritmo da música com um pé e quando a menina Eloísa estava livre convidava-a, perfilando-se-lhe à frente com um discreto bater de tacões e uma leve inclinação. Nunca falavam, olhavam-se apenas e sorriam entre os galopes, fugas e diagonais de uma dança antiga.
Num sábado de Dezembro, menos úmido que os outros, chegou ao Pequeno Heidelberg um par de turistas. Desta vez não eram os disciplinados japoneses dos últimos tempos, mas uns escandinavos altos, de pele queimada e cabelos claros, que se instalaram numa mesa a observar os bailarinos, fascinados.
Eram alegres e ruidosos, batiam as canecas de cerveja, riam-se com gosto e falavam aos gritos. As palavras dos estrangeiros chegaram ao capitão, à sua mesa, e desde muito longe, desde outro tempo e outra paisagem, chegou-lhe o som da sua própria língua, inteira e fresca, como que recém-inventada, palavras que há décadas não ouvia, mas que permaneciam intactas na sua memória. Uma expressão suavizou-lhe o rosto de velho navegante, fazendo-o vacilar por alguns minutos entre a reserva absoluta onde se sentia cômodo e o deleite quase esquecido de se abandonar a uma conversa. Por fim, pôs-se de pé e aproximou-se dos desconhecidos. Atrás do bar, Dom Rupert observou o capitão, que estava a dizer qualquer coisa aos recém-chegados, ligeiramente inclinado, com as mãos nas costas. Logo os outros clientes, as moças e os músicos deram conta que aquele homem falava pela primeira vez desde que o conheciam e também ficaram quietos para o ouvir melhor. Tinha uma voz de bisavô, apagada e lenta, mas punha uma grande determinação em cada frase. Quando acabou de tirar todo o conteúdo do seu peito, fez-se tal silêncio no salão que Dona Burgel saiu da cozinha para saber se alguém tinha morrido. Por fim, depois de uma longa pausa, um dos turistas tomou coragem e chamou Dom Rupert para dizer num inglês primitivo, que o ajudassem a traduzir o ddiscurso do capitão. Os nórdicos seguiram o velho marinheiro até à mesa onde a menina Eloísa aguardava e Dom Rupert aproximou-se também, tirando o avental pelo caminho, com a intuição de um acontecimento solene.
O capitão disse algumas palavras no seu idioma, um dos estrangeiros interpelou-o em inglês e Dom Rupert, com as orelhas vermelhas e o bigode a tremelicar, repetiu tudo no seu espanhol torcido.
- Menina Eloísa, o capitão pergunta se quer casar com ele. A frágil anciã ficou sentada com os olhos redondos de surpresa e a boca oculta pelo seu lenço de baptista, e todos esperaram suspensos num suspiro, até que ela conseguiu falar.
- Não lhe parece que isto é um pouco precipitado? - cochichou ela.
As suas palavras passaram pelo taberneiro e pelos turistas e a resposta fez o mesmo percurso ao contrário.
- O capitão diz que esperou quarenta anos para dizer isto e que não poderia esperar até que volte a aparecer alguém que fale o seu idioma. Pede que lhe responda agora, por favor.
- Está bem - sussurrou Eloísa, e não foi necessário traduzir a resposta, porque todos a compreenderam.
Dom Rupert, eufórico, levantou os braços e anunciou o compromisso, o capitão beijou as faces da noiva, os turistas apertaram as mãos de toda a gente, os músicos tocaram os instrumentos numa chinfrineira de marcha triunfal e os assistentes fizeram uma roda à volta do par. As mulheres limpavam as lágrimas, os homens brindavam emocionados, Dom Rupert sentou-se à frente do bar e escondeu a cabeça entre os braços sacudido pela emoção, enquanto Dona Burgel e as duas filhas abriam garrafas do melhor rum. Em seguida, os músicos tocaram a valsa do Danúbio Azul e todos saíram da pista.
O capitão pegou na mão da suave mulher que tinha amado sem palavras por tanto tempo e levou-a até ao centro do salão, onde dançaram com a leveza de duas garças na sua dança nupcial. O capitão segurava-a com o mesmo cuidado amoroso com que na sua juventude apanhava o vento nas velas de alguma nave etérea, levando-a pela pista como se navegasse nas macias ondas de uma baía, enquanto lhe dizia no seu idioma de nevões e bosques tudo o que o seu coração tinha calado, até àquele momento. Dançando, dançando sempre o capitão sentia que se lhes ia recuando a idade e a cada passo estavam mais alegres e leves. Uma volta, depois outra, os acordes da música mais vibrantes, os pés mais rápidos, a cintura dela mais delgada, o peso da sua mãozinha na sua mais ligeiro, a sua presença mais incorpórea. Então, ele viu que a menina Eloísa se ia tornando renda, espuma, névoa, até se tornar imperceptível e, por último, desaparecer de todo, e ele viu-se a girar, a girar com os braços vazios, sem outra companhia que um ténue aroma de chocolate.
O tenor indicou-o aos músicos que se dispuseram a continuar tocando a mesma valsa para sempre, porque compreenderam que com a última nota o capitão acordaria do sonho e que a recordação da menina Eloísa se esfumaria definitivamente.
Comovidos, os velhos paroquianos do Pequeno Heidelberg permaneceram imóveis nas cadeiras, até que por fim a Mexicana, com a sua arrogância transformada em caridosa ternura, se levantou, avançando discretamente até às mãos trementes do capitão, para dançar com ele.
15 - A mulher do Juiz
Nicolas Vidal soube desde sempre que perderia a vida por uma mulher. Vaticinaram-lho no dia do nascimento, e confirmou-o a dona do armazém na única ocasião em que ele permitiu que lhe visse a sorte na borra do café, mas não imaginou que a causa fosse Casilda, a esposa do juiz Hidalgo. Viu-a a primeira vez no dia em que ela chegou à aldeia para se casar. Não a achou atraente, porque preferia as fêmeas descaradas e morenas e aquela jovem transparente no seu traje de viagem, com o olhar esquivo e dedos finos, inúteis para dar prazer a um homem, era para ele tão inconsistente como um punhado de cinza.
Conhecendo bem o seu destino, evitava as mulheres e ao longo da sua vida fugiu de todo o contacto sentimental, secando o coração para o amor, e limitando-se a encontros rápidos para enganar a solidão. Tão insignificante e distante lhe pareceu Casilda que não tomou precauções com ela, e chegado o momento esqueceu a predição que sempre estivera presente nas suas decisões. Do telhado do edifício onde se tinha agachado com dois dos seus homens, observou a jovem da capital quando ela desceu do coche no dia do seu casamento. Chegou acompanhada por meia dúzia de familiares, tão lívidos e delicados como ela, que assistiram à cerimônia abanando-se com ar de franca consternação e depois partiram para nunca mais voltar.
Como todos os habitantes da aldeia, Vidal pensou que a noiva não aguentaria o clima e que dentro em pouco as comadres teriam de a vestir para o próprio funeral. No caso improvável de resistir ao calor e ao pó que entrava pela pele, e se fixava na alma, sem dúvida sucumbiria perante o mau humor e as manias de solteirão do marido. O juiz Hidalgo tinha o dobro da idade dela e dormia há tantos anos sozinho que não sabia por onde começar a dar prazer a uma mulher.
Em toda a província temiam o seu temperamento severo e a sua pertinácia para cumprir a lei. No exercício das suas funções ignorava as razões do bom sentimento, castigando com igual firmeza tanto o roubo de uma galinha como o homicídio voluntário. Vestia de negro rigoroso para que todos conhecessem a dignidade do seu cargo e apesar da poeirada constante daquela aldeia sem ilusões andava sempre de botins lustrosos, com cara de abelha. Um homem assim não estava feito para marido, diziam as comadres. No entanto, não se cumpriram os funestos presságios da boda, pelo contrário, Casilda sobreviveu a três partos seguidos e parecia contente. Aos domingos ia com o esposo à missa do meio-dia, imperturbável debaixo da mantilha espanhola, intocada pela inclemência daquele Verão perene, descorada e silenciosa como uma sombra.
Ninguém lhe ouviu mais que uma ténue saudação nem lhe viram gestos mais ousados que uma inclinação de cabeça ou um rápido sorriso, parecia volátil a ponto de se esfumar num descuido. Dava a impressão de não existir, por isso todos se surpreenderam ao ver a sua influência sobre o juiz, cujas mudanças eram notáveis.
Se Hidalgo continuou a ser o mesmo na aparência, fúnebre, áspero, as suas decisões no tribunal deram uma estranha volta.
Perante o espanto de todos deixou em liberdade um rapaz que roubou o patrão, com o argumento de que durante três anos este lhe pagara menos do que o justo e que o dinheiro subtraído era uma forma de compensação. Também se negou a castigar uma esposa adúltera argumentando que o marido não tinha autoridade moral para lhe exigir honradez, se ele próprio mantinha uma concubina. As más-línguas da aldeia murmuravam que o juiz Hidalgo se virava como uma luva quando passava a porta da casa, e tirava as roupas solenes, brincava com os filhos, ria-se e sentava Casilda nos joelhos, mas esses murmúrios nunca foram confirmados. De qualquer modo, atribuíram à mulher aqueles actos de benevolência e o seu prestígio melhorou, mas nada disso interessava a Nicolas Vidal, porque ele era um fora da lei e tinha a certeza de que não haveria piedade para si quando pudessem levá-lo algemado perante o juiz. Não dava ouvidos aos dichotes sobre Dona Casilda e as poucas vezes que a viu de longe, confirmou a sua primeira apreciação de que era apenas um confuso ectoplasma.
Vidal nascera trinta anos antes, num quarto sem janelas do único prostibulo da povoação, filho de Juana, a Triste, e de pai desconhecido. Não tinha lugar neste mundo e a mãe sabia-o, por isso tentou arrancá-lo do ventre com ervas, cotos de vela, lavagens de lixívia e outros recursos brutais, mas a criança fez por sobreviver. Anos depois, Juana, a Diste, ao ver aquele filho tão diferente, compreendeu que os dramáticos sistemas para abortar não haviam conseguido acabar com ele, em contrapartida tinham-lhe temperado o corpo e a alma até lhe dar uma dureza de ferro.
Mal nasceu, a parteira levantou-o para o ver à luz de um candeeiro e imediatamente notou que tinha quatro mamilos.
- Pobrezinho, vai perder a vida por uma mulher - prognosticou guiada pela sua experiência nesses assuntos.
Essas palavras pesaram como uma deformidade no rapaz. Talvez a sua existência tivesse sido menos miserável com o amor de uma mulher.
Para o compensar pelas numerosas tentativas de o matar antes de nascer, a mãe escolheu para ele um nome cheio de beleza e um apelido sólido, eleito ao acaso; mas esse nome de príncipe não foi suficiente para afastar os maus sinais e em menos de dez anos o menino tinha a cara marcada à força pelas rixas e muito pouco tempo depois vivia como fugitivo. Aos vinte, era chefe de um bando de homens desesperados.
O hábito da violência desenvolveu a força dos seus músculos, a rua tornou-o desapiedado e a solidão, à qual estava condenado por receio de se perder por amor, determinou a expressão dos seus olhos. Qualquer habitante da povoação podia jurar, ao vê-lo, que era o filho de Juana, a Triste, porque, tal como ela, tinha as pupilas molhadas de lágrimas que não caíam.
Sempre que se cometia uma malfeitoria na região, os guardas saíam com cães à caça de Nicolas Vidal para calar os protestos dos cidadãos, mas depois de umas voltas pelos montes regressavam de mãos vazias. Na verdade não desejavam encontrá-lo, porque não podiam lutar com ele. O bando consolidou de tal modo a sua má fama, que as aldeias e fazendas pagavam um tributo para o manter afastado. Com essas doações os homens podiam estar tranquilos, mas Nicolas Vidal obrigava-os a manterem-se sempre a cavalo, no meio de um vendaval de morte e destruição para que não perdessem o gosto pela guerra nem lhes diminuísse a má fama. Ninguém se atrevia a enfrentá-los. Em duas ou três ocasiões o juiz Hidalgo pediu ao governo que mandasse tropas do exército para reforçar os seus polícias, mas depois de algumas excursões inúteis os soldados voltavam aos quartéis e os foragidos às suas andanças.
Apenas uma vez esteve Nicolas Vidal a ponto de cair nas malhas da justiça, mas a sua incapacidade para se comover salvou-o. Cansado de ver as leis atropeladas, o juiz Hidalgo decidiu passar por alto os escrúpulos e preparar uma armadilha para o bandoleiro. Pensava que em defesa da justiça ia cometer um acto actroz, mas dos males escolheu o menor.
O único isco que lhe ocorreu foi Juana, a Triste, porque Vidal não tinha outros parentes nem se lhe conheciam amores. Tirou a mulher do local onde esfregava soalhos e limpava latrinas à falta de clientes dispostos a pagar pelos seus serviços, meteu-a dentro de uma jaula feita por medida e colocou-a no centro da Praça de Armas, sem mais consolo que um jarro de água.
- Quando se acabar a água vai começar a gritar. Então aparecerá o filho e eu estarei à espera dele com os soldados - disse o juiz.
A notícia desse castigo, em desuso desde a época dos escravos fugitivos, chegou aos ouvidos de Nicolas Vidal pouco antes de a mãe beber o último gole do cântaro. Os seus homens viram-no receber a notícia em silêncio, sem alterar a sua impassível máscara de solitário nem o ritmo tranquilo com que afiava a navalha numa tira de couro. Há muitos anos que não tinha contacto com Juana, a Triste, nem guardava uma só recordação agradável da sua meninice, mas essa não era uma questão, mas um assunto de honra. Nenhum homem pode aguentar semelhante ofensa, pensaram os bandidos, enquanto alistavam as suas armas e as montadas, dispostos a acudir à emboscada e deixar nela a vida se necessário fosse, mas o chefe não deu mostras de pressa.
À medida que as horas passaram, a tensão do grupo aumentava.
Olhavam-se uns aos outros a suar sem se atreverem a fazer comentários, esperando impacientes, de mão na coronha dos revólveres, nas crinas dos cavalos, na pega dos laços. Chegou a noite e o único que dormiu no acampamento foi Nicolas Vidal.
Ao amanhecer as opiniões estavam divididas entre os homens, uns acreditavam que era muito mais desalmado do que tinham imaginado e outros diziam que o chefe planeava uma acção espectacular para libertar a mãe. O que ninguém pensou foi que pudesse faltar-lhe a coragem, porque tinha dado mostras de tê-la em demasia. Chegado o meio-dia não suportaram mais a incerteza e foram perguntar-lhe o que ia fazer.
- Nada - disse.
- E a tua mãe?
- Veremos quem tem mais colhões, se o juiz se eu - respondeu Nicolas Vidal, imperturbável.
Ao terceiro dia Juana, a Triste, já não pedia piedade nem suplicava por água, porque a língua tinha-se-lhe secado e as palavras morriam-lhe na garganta antes de nascer, jazia esquecida no chão da jaula com os olhos perdidos e os lábios inchados, gemendo como um animal nos momentos de lucidez e a sonhar com o Inferno o resto do tempo. Quatro guardas armados vigiavam a prisioneira para impedir que os vizinhos lhe dessem de beber. Os seus lamentos enchiam toda a aldeia, entravam pelos postigos fechados, o vento enfiava-os pelas portas, os cães apanhavam-nos para os repetir uivando, contagiavam os recém-nascidos e moíam os nervos de quem os ouvia. O juiz não pôde evitar o desfile de gente pela praça compadecida da anciã, nem conseguiu travar a greve solidária das prostitutas que coincidiu com a folga dos mineiros. No sábado as ruas estavam tomadas pelos rudes trabalhadores das minas, ansiosos de gastar as suas poupanças antes de voltar para debaixo da terra, mas o povoado não oferecia outra diversão que a jaula e aquele murmúrio lastimoso levado de boca em boca, desde o rio até à estrada da costa. O padre encabeçou um grupo de paroquianos que se apresentaram ao juiz Hidalgo a recordar a caridade cristã e a suplicar-lhe que poupasse aquela pobre mulher inocente àquela morte de mártir, mas o magistrado correu o ferrolho do seu escritório negando-se a ouvi-los, apostando que Juana, a Triste, aguentaria mais um dia e que o seu filho cairia na armadilha. Então os notáveis da povoação decidiram acudir a Dona Casilda.
A esposa do juiz recebeu-os no sombrio salão da sua casa e ouviu as suas razões calada, de olhos baixos, como era seu estilo. Há três dias que o marido estava ausente, fechado no escritório, aguardando Nicolas Vidal com uma determinação insensata. Sem espreitar à janela, ela sabia tudo o que acontecia na rua, porque o ruído daquele longo suplício também entrava pelos grandes quartos da sua casa. Dona Casilda esperou que as visitas se retirassem, vestiu os filhos com roupas domingueiras e saiu com eles em direção à praça.
Levava uma cesta com provisões e um jarro com água fresca para Juana, a Triste. Os guardas viram-na aparecer na esquina e adivinharam as suas intenções, mas como tinham ordens precisas, cruzaram as espingardas diante dela e quando quis avançar, observada por uma multidão expectante, agarraram-na pelo braço para a impedir. Então as crianças começaram a gritar.
O juiz Hidalgo estava no seu escritório em frente da praça.
Era o único habitante do bairro que não tinha tapado os ouvidos com cera, porque permanecia atento à emboscada, de ouvido no ruído dos cavalos de Nicolas Vidal. Durante três dias e três noites aguentou o choro da sua vítima e os insultos dos vizinhos amotinados, em frente do edifício, mas quando distinguiu as vozes dos filhos compreendeu que tinha alcançado o limite da sua resistência. Esgotado, saiu do tribunal com uma barba de três dias, os olhos a arder da vigília e o peso da derrota nos ombros. Atravessou a rua, entrou no quadrilátero da praça e aproximou-se de sua mulher.
Olharam-se com tristeza. Era a primeira vez em sete anos que ela o enfrentava e resolveu fazê-lo em frente de todo o povo.
O juiz Hidalgo tirou a cesta e o jarro das mãos de Dona Casilda e ele próprio abriu a jaula para socorrer a sua prisioneira.
- Eu bem vos dizia, tem menos colhões que eu - riu Nicolas Vidal ao saber do sucedido.
Mas as suas gargalhadas tornaram-se amargas no dia seguinte, quando lhe levaram a notícia de que Joana, a Triste, se tinha enforcado no candeeiro do bordel onde gastara a vida, porque não pudera resistir à vergonha de ser abandonada pelo único filho numa jaula no centro da Praça de Armas.
Chegou a hora do juiz - disse Vidal.
O seu plano consistia em entrar na aldeia de noite, apanhar o magistrado de surpresa, dar-lhe uma morte espectacular e colocá-lo dentro da maldita jaula, para que ao romper do outro dia todos pudessem ver os seus restos humilhados. Mas soube que a família Hidalgo tinha partido para umas termas na costa a fim de passar o mau gosto da derrota.
O indício de que o perseguiam para tirar vingança apanhou o juiz Hidalgo a meio do caminho, numa pousada onde haviam parado para descansar. O lugar não oferecia protecção suficiente até que acudisse o destacamento da guarda, mas levava algumas horas de vantagem e o seu veículo era mais rápido que os cavalos. Calculou que podia chegar à outra povoação e conseguir ajuda. Ordenou à mulher que subisse para o carro com as crianças, pisou no pedal a fundo e lançou-se na estrada.
Deveria chegar com ampla margem de segurança, mas estava escrito que Nicolas Vidal se encontraria nesse dia com a mulher de quem tinha fugido toda a vida.
Extenuado pela noite de vela, a hostilidade dos vizinhos, o calor sofrido e a tensão daquela corrida para salvar a família, o coração do juiz Hidalgo deu um estremeção e estalou sem ruído. O carro sem controlo saiu do caminho, deu alguns tombos e parou por fim na ribanceira. Dona Casilda demorou uns bons minutos a dar conta do sucedido. Muitas vezes tinha pensado na eventualidade de ficar viúva, já que o marido era quase ancião, mas nunca imaginara que ele a deixaria à mercê dos seus inimigos. Não ficou a pensar nisso, porque compreendeu a necessidade de actuar imediatamente para salvar as crianças. Percorreu com os olhos o local onde se encontrava e esteve quase a chorar de desconsolo, porque naquela extensão nua, calcinada por um sol impiedoso, não se vislumbravam rastos de vida humana, apenas os cerros agrestes e um céu esbranquiçado pela luz. Mas ao segundo olhar distinguiu, numa ladeira, a sombra de uma gruta. Largou a correr até lá levando duas crianças ao colo e a terceira agarrada às saias.
Três vezes subiu Casilda carregando um a um os filhos até lá acima.
Era uma gruta natural como muitas outras nos montes daquela região. Revistou o interior para se certificar se não era o refúgio de algum animal, acomodou as crianças no fundo e beijou-as sem uma lágrima.
- Dentro de algumas horas virão os guardas buscá-las. Até lá não saiam por nenhum motivo, mesmo que oiçam gritar, perceberam? - ordenou-lhes.
Os pequenos encolheram-se aterrados e, com um último olhar de adeus, a mãe desceu do monte. Chegou até ao carro, baixou as pálpebras do marido, sacudiu a roupa, ajeitou o penteado e sentou-se à espera. Não sabia de quantos homens se compunha o bando de Nicolas Vidal, mas rezou para que fossem muitos, assim teriam trabalho a saciar-se com ela, e reuniu forças perguntando a si própria quanto tempo demoraria a morrer se se esmerasse a fazê-lo a pouco e pouco. Desejou ser opulenta e forte para lhes opor maior resistência e ganhar tempo para os filhos.
Não teve de aguardar muito tempo. Avistou pó no horizonte, ouviu um galope e apertou os dentes. Desconcertada, viu que se tratava de um só cavaleiro, que parou a poucos metros dela, de arma na mão. Tinha a cara marcada por uma facada, era Nicolas Vidal, que decidira ir em perseguição do juiz Hidalgo sem os seus homens, porque aquele era um assunto privado que tinha de resolver entre os dois. Então ela compreendeu que havia que fazer qualquer coisa muito mais difícil do que morrer lentamente.
Ao bandido bastou uma olhadela para compreender que o seu inimigo se encontrava a salvo de qualquer castigo, dormindo a sua morte em paz, mas estava ali a sua mulher flutuando à reverberação da luz. Saltou do cavalo e aproximou-se. Ela não baixou os olhos nem se moveu e ele parou surpreendido, porque pela primeira vez alguém o desafiava sem ponta de medo.
Mediram-se em silêncio durante alguns segundos eternos, avaliando cada um as forças do outro, estimando a sua própria tenacidade e aceitando que estavam perante um adversário formidável. Nicolas Vidal guardou o revólver e Casilda sorriu.
A mulher do juiz ganhou cada instante das horas que se seguiram. Empregou todos os recursos de sedução registados desde os alvores do conhecimento humano e outros que improvisou inspirada pela necessidade para oferecer àquele homem o maior deleite. Não só trabalhou sobre o seu corpo como experiente cortesia, tocando-lhe cada fibra em busca do prazer, mas pôs também o refinamento do seu espírito ao serviço da sua causa. Ambos perceberam que jogavam a vida e que isso dava ao encontro uma terrível intensidade. Nicolas Vidal tinha fugido ao amor desde o nascimento, não conhecia a intimidade, a ternura, o sorriso secreto, a festa dos sentidos, o alegre gozo dos amantes. Cada minuto passado aproximava o destacamento de guardas e com ele o pelotão de fuzilamento, mas também o aproximava daquela mulher prodigiosa e por isso entregou-se com prazer em troca dos dons que ela lhe oferecia.
Casilda era pudica e tímida, tinha estado casada com um velho austero a quem nunca se mostrara nua. Durante aquela tarde inesquecível ela não deixou de pensar que o seu objetivo era ganhar tempo, abandonou-se maravilhada pela sua própria sensualidade, e sentiu por aquele homem algo parecido com a gratidão. Por isso, quando ouviu o ruído longínquo da tropa pediu-lhe que fugisse e se escondesse nos montes, mas Nicolas Vidal preferiu envolvê-la nos seus braços para a beijar pela última vez, cumprindo assim a profecia que marcou o seu destino.
16 - Um caminho para o Norte
Claveles Picero e seu avô, jesús Dionisio Picero, levaram trinta e oito dias a cobrir os duzentos e setenta quilômetros entre a sua aldeia e a capital. Atravessaram a pé as terras baixas, onde a humidade macerava a vegetação num caldo eterno de lodo e suor, subiram e desceram montes entre iguarias imóveis e palmeiras vergadas, atravessaram as plantações de café fugindo aos capatazes, lagartos e cobras, por debaixo das folhas do tabaco entre mosquitos fosforescentes e mariposas siderais. Iam a caminho da cidade, ladeando a estrada, em algumas ocasiões tiveram de fazer grandes desvios para evitar os acampamentos dos soldados. às vezes, os camionistas abrandavam a marcha ao passar a seu lado, atraídos pelas costas de rainha mestiça e o grande cabelo negro da rapariga, mas o olhar do velho dissuadia-os se tinham qualquer intenção de a molestar. O avô e a neta não tinham dinheiro e não sabiam mendigar. Quando acabaram as provisões que levavam numa cesta, continuaram para diante à custa de muita coragem. De noite embrulhavam-se nas suas mantas e dormiam debaixo das árvores com uma ave-maria nos lábios e a alma posta no menino, para não pensar em pumas e em animais peçonhentos. Acordavam cobertos de escaravelhos azuis. Com a primeira claridade da manhã, quando a paisagem permanecia envolta pelas últimas brumas do sono e ainda os homens e os animais não iniciavam o dia, começavam a andar outra vez para aproveitar o fresco.
Entraram na capital pela Estrada dos Espanhóis, perguntando a quem encontravam nas ruas onde poderiam falar com o secretário do Bem-Estar Social. Os ossos de Jesús Dionisio estalavam, as cores do vestido de Ciaveles haviam-se desbotado e ela tinha a expressão enfeitiçada de uma sonâmbula. Um século de fadiga derramara-se sobre o esplendor dos seus vinte anos.
Jesús Dionisio era o artesão mais conhecido da província, na sua longa vida ganhara um prestígio do qual não se gabava, porque considerava o seu talento como um dom ao serviço de Deus e do qual era o único administrador. Tinha começado como oleiro e ainda fazia potes de barro, mas a sua fama vinha de santos de madeira e pequenas esculturas em garrafas, que os camponeses compravam para os seus altares domésticos ou se vendiam aos turistas na capital. Era um trabalho lento, coisas de olho, tempo e coração, como o homem explicava aos garotos que se juntavam à sua volta para o ver trabalhar. Introduzia com pinças os palitos pintados nas garrafas, com um pingo de cola nas partes que devia pegar, e esperava com paciência que secassem antes de pôr a peça seguinte. A sua especialidade eram os Calvários: uma cruz grande ao centro onde pendurava o Cristo esculpido, com os seus cravos, a sua coroa de espinhos e uma auréola de papel dourado, e outras duas cruzes mais simples para os ladrões do Gólgota. No Natal fabricava nichos para o Menino Deus, com pombas representando o Espírito Santo, estrelas e flores para simbolizar a Glória. Não sabia ler nem assinar o nome porque quando era menino não havia escola por aquelas bandas, mas podia copiar do livro de missa algumas frases em latim para decorar os pedestais dos santos. Dizia que os seus pais lhe tinham ensinado a respeitar as leis da Igreja e as pessoas, o que era mais valioso que ter instrução.
Como a arte não lhe dava para manter a casa tinha de aumentar o seu orçamento criando galos de raça, vivos para a luta.
Dedicava muitos cuidados a cada galo, alimentava-os no bico com uma papa de cereais esmagados e sangue fresco, que conseguia no matadouro, tinha de lhes tirar as pulgas à mão, arejar-lhes as penas, polir-lhes as esporas e treiná-los diariamente para que não fraquejassem na hora de os pôr à prova. às vezes ia a outras povoações para os ver lutar, mas nunca apostava, porque para ele todo o dinheiro ganho sem suor e trabalho era coisa do Diabo. Aos sábados à noite ia com a neta Claveles limpar a igreja para a cerimônia de domingo. Nem sempre vinha o sacerdote, que percorria as aldeias de bicicleta, mas os cristãos juntavam-se de qualquer modo para rezar e cantar. Jesús Dionisio era também encarregado de coleccionar e guardar as esmolas para cuidar do templo e ajudar o padre.
Picero teve treze filhos com sua mulher, Amparo Medina, dos quais cinco sobreviveram às pestes e acidentes da infância.
Quando o casal pensava que as crianças já tinham acabado, porque todos os rapazes eram adultos e haviam saído de casa, o mais novo voltou com licença do serviço militar trazendo um volume embrulhado em trapos que pôs sobre os joelhos de Amparo. Ao abri-lo viram que se tratava de uma menina recém-nascida, meio agonizante por falta de leite materno e pelas sacudidelas da viagem.
- De onde tiraste tu isto, meu filho? - perguntou Jesús Dionisio Picero.
- À primeira vista é do meu sangue - respondeu o jovem, sem se atrever a enfrentar o olhar do pai, apertando a boina do uniforme entre os seus dedos suados.
- E se não é perguntar muito, onde é que a mãe se meteu?
- Não sei. Deixou a miúda à porta do quartel com um papel a dizer que sou eu o pai. O sargento mandou-me entregá-la às freiras, diz que não há maneira de provar que é minha. Mas a mim dá-me pena, não quero que seja órfã.
- Onde é que se viu uma mãe abandonar a sua criarecém-parida?
- São coisas da cidade.
- Pois deve ser. E como se chama esta pobrezinha?
- Baptize-a como quiser, pai, mas se me perguntar, eu gostaria que fosse Claveles, que era a flor preferida da mãe dela.
Jesús Dionisio foi buscar a cabra para a ordenhar, enquanto Amparo limpava o bebé com óleo e rezava à Virgem da Gruta pedindo-lhe que lhe desse ânimo para tomar conta de outro menino. Logo que viu a criança em boas mãos, o filho mais novo despediu-se agradecido, pôs a bolsa ao ombro e regressou ao quartel para cumprir o castigo.
Claveles cresceu em casa dos avós. Era uma rapariga teimosa e rebelde, difícil de dominar com argumentos ou com o exercício da autoridade, mas que sucumbia imediatamente quando lhe tocavam nos sentimentos. Levantava-se ao amanhecer e caminhava cinco quilômetros até um alpendre no meio das pastagens, onde uma professora juntava os meninos da zona para lhes dar instrução. Ajudava a avó nas tarefas da Casa e ao avô na oficina, ia ao monte buscar argila e lavava-lhe os pincéis, mas nunca se interessou por outros aspectos da sua arte.
Quando Claveles tinha nove anos, Amparo Medina, que definhara reduzida ao tamanho de uma criança, apareceu fria na cama, extenuada por tantas maternidades e tantos anos de trabalho. O marido trocou o melhor galo por algumas tábuas e fez-lhe uma urna decorada com cenas bíblicas. A neta vestiu-a para o funeral com hábito de Santa Benedita, túnica branca e cordão azul na cintura, o mesmo que ela usara na primeira comunhão, e que lhe ficou justo no corpo mirrado da anciã. Jesús Picero e Claveles saíram de casa a caminho do cemitério, puxando uma carreta onde levavam o caixão ornamentado com flores de papel.
Pelo caminho foram-se juntando os amigos, homens e mulheres com as cabeças cobertas, que os acompanharam em silêncio.
O velho santeiro e a neta ficaram sozinhos em casa. Em sinal de luto pintaram uma grande cruz na porta e ambos puseram durante anos uma cinta negra cozida na manga. O avô fez por substituir a mulher nos pormenores práticos da vida, mas nada voltou a ser como dantes. A ausência de Amparo Medina invadiu-o por dentro, como uma doença antiga, sentiu que o sangue se lhe tornava água, que as recordações se lhe escureciam, que os ossos se lhe tornavam algodão, que o espírito se lhe enchia de dúvidas. Pela primeira vez na sua existência revoltou-se contra o destino, perguntando-se por que razão a tinham levado sem ele. A partir de então já não pôde fazer Presépios, das suas mãos apenas saíam Calvários e Santos Mártires, todos vestidos de luto, aos quais Claveles punha letreiros com mensagens patéticas da Divina Providência ditados pelo avô. Aquelas figuras não tiveram a mesma aceitação entre os turistas da cidade, que preferiam as cores escandalosas atribuídas por erro ao temperamento indígena, nem entre os camponeses, que necessitavam adorar divindades alegres, porque o único consolo para as tristezas deste mundo era imaginar que no céu estavam sempre em festa. A Jesús Dionisio Picero tornou-se quase impossível vender os seus trabalhos, mas continuou a fabricá-los porque naquele ofício as horas passam-se sem cansaço, como se fosse sempre cedo. No entanto, nem o trabalho nem a presença da neta puderam aliviá-lo e começou a beber às escondidas, para que ninguém notasse essa vergonha. Bêbado chamava pela mulher e às vezes conseguia vê-la junto do fogão da cozinha. Sem os cuidados diligentes de Amparo Medina a casa foi-se deteriorando, as galinhas adoeceram, tiveram de vender a cabra, a horta secou e em breve eram a família mais pobre dos arredores. Pouco depois, Claveles foi trabalhar para uma povoação vizinha. Aos catorze anos o seu corpo já tinha alcançado a forma e o tamanho definitivos, e como não tinha a pele acobreada nem as maças do rosto como os outros membros da família, Jesús Dionisio Picero concluiu que a mãe devia ser branca, o que era uma explicação para o facto insólito de ter sido abandonada à porta de um quartel.
Ao fim de um ano e meio Claveles Picero regressou a casa com manchas na cara e uma barriga proeminente. Encontrou o avô sem outra companhia que uma matilha de cães esfaimados e um par de galos miseráveis, soltos pelo pátio, falando sozinho, de olhar perdido, com sinais de não se lavar há muito tempo. à volta de si a maior das desordens.
Tinha abandonado o seu pedaço de terra e passava as horas a fabricar santos com uma aplicação demente, mas do seu antigo talento já restava muito pouco. As suas esculturas eram uns seres disformes e lúgubres, impróprios para a devoção ou para vender, que se amontoavam pelos cantos da casa como pilhas de lenha. Jesús Dionisio Picero tinha mudado tanto que nem tentou fazer à neta o discurso sobre o pecado de pôr filhos no mundo sem pai conhecido, na verdade pareceu-lhe não notar os sinais da gravidez, limitou-se a abraçá-la, todo a tremer chamando-lhe Amparo.
- Olhe bem para mim, avô, sou Claveles. Venho para ficar, porque aqui há muito que fazer - disse a jovem, e foi acender o fogão para ferver umas papas e aquecer a água para dar banho ao velho.
Durante os meses que se seguiram Jesús Dionisio pareceu ressuscitar do seu luto, deixou a bebida, tornou a cultivar a horta, a ocupar-se dos galos e a limpar a igreja. Ainda lhe faltava a recordação da mulher e, de vez em quando, confundia a neta com a mulher, mas voltou a ter a capacidade de rir. A companhia de Claveles e a ilusão de que logo teria outra criança em casa devolveram-lhe o amor pelas cores e, a pouco e pouco, deixou de besuntar os seus santos com tinta preta, vestindo-os com roupagem mais adequada para o altar. O menino de Claveles saiu do ventre da mãe um dia às seis da tarde e caiu nas mãos calejadas do seu bisavô, que tinha uma longa experiência desses trabalhos, porque ajudara a nascer os seus treze filhos.
- Vai chamar-se Juan - decidiu o improvisado parteiro logo que cortou o cordão umbilical e envolveu o seu descendente com um pano.
- Porquê Juan? Não há nenhum Juan na família, avô.
- Porque Juan era o melhor amigo de Jesús e este será o meu melhor amigo. E qual é o apelido do pai?
- Faça de contas que não tem pai.
- Então Picero, Juan. Picero. Duas semanas depois do nascimento do seu bisneto, Jesús Dionisio começou a cortar os paus para um Presépio, o primeiro que fazia depois da morte de Amparo Medina.
Claveles e o avô não tardaram muito a verificar que o menino não era normal. Tinha um olhar curioso e mexia-se como qualquer bebé, mas não raciocinava quando lhe falavam, podia permanecer horas acordado e imóvel. Fizeram a viagem até ao hospital e lá confirmaram-lhes que era surdo e que por isso seria mudo. O médico acrescentou que não havia muita esperança nele, a menos que tivessem sorte e conseguissem pô-lo numa instituição na cidade, onde lhe ensinariam boa conduta e no futuro poderiam dar-lhe uma profissão para ganhar a vida com decência e não ser sempre uma carga para os outros.
- Nem falar, Juan. fica connosco - decidiu Jesús Dionisio Picero sem sequer olhar para Cleveles, que chorava com a cabeça coberta por um xaile.
- Que vamos fazer, avô? - perguntou ela ao sair.
- Criá-lo, é claro.
- Como?
- Com paciência, como se treinam os galos ou se metem Calvários em garrafas. Coisa de olho, tempo e coração.
Assim fizeram. Sem considerar o facto de que a criança não os podia ouvir, falavam-lhe sem parar, cantavam-lhe, punham-no ao pé do rádio, a todo o volume. O avô pegava na mão do menino e apoiava-a com firmeza sobre o próprio peito, para que sentisse a vibração da sua voz a falar, fazia-o gritar e aplaudia os seus grunhidos com grande entusiasmo. Mal se pôde sentar ínstalou-o a seu lado num caixote, rodeou-o de paus, nozes, ossos, pedaços de pano e pedrinhas para brincar e, mais tarde, quando aprendeu a não metê-la na boca, dava-lhe uma bola de barro para modelar. Sempre que conseguia trabalho, Claveles ia para a aldeia, deixando o filho nas mãos de Jesús Dionisio.
Para onde fosse o velho a criança seguia-o como uma sombra, raramente se separavam. Entre os dois desenvolveu-se uma sólida camaradagem que eliminou a tremenda diferença de idade e o obstáculo do silêncio. Juan acostumou-se a observar os gestos e as expressões do rosto do bisavô para decifrar as suas intenções, com tão bons resultados que no ano em que aprendeu a caminhar já era capaz de lhe ler os pensamentos.
Por seu lado, Jesús Dionisio tratava dele como uma mãe.
Enquanto as suas mãos se esmeravam em delgados artesanatos, o seu instinto seguia os passos do menino, atento a qualquer perigo, mas apenas intervinha em casos extremos. Não se aproximava para o consolar depois de uma queda nem a socorrê-lo quando estava em apuros, acostumou-o assim a valer-se por si mesmo. Numa idade em que outros rapazes ainda andavam a tropeçar como cachorros, Juan Picero podia vestir-se, lavar-se e comer sozinho, alimentar as aves, ir buscar água ao poço, sabia talhar as partes mais simples dos santos, misturar cores e preparar as garrafas para os Calvários.
- Temos de o mandar para a escola para não ficar bruto como eu - disse Jesús Dionisio quando se aproximava o sétimo aniversário do menino.
Claveles fez algumas perguntas, mas informaram-na que o seu filho não podia assistir a um curso normal, porque nenhuma professora estaria disposta a aventurar-se no abismo de solidão onde estava afundado.
- Não importa, avô, ganhará a vida a fazer santos, como o senhor - resignou-se Claveles.
- Isso não dá para comer.
- Nem todos podem educar-se, avô.
- Juan é surdo, mas não é tonto. Tem muito discernimento e pode sair daqui, a vida no campo é muito dura para ele.
Claveles estava convencida de que o avô perdera o juízo e que o amor pelo menino o impedia de ver as suas limitações.
Comprou um silabário e tentou transmitir-lhe os seus escassos conhecimentos, mas não conseguiu fazer entender ao filho que aqueles garatujos representavam sons e acabou por perder a paciência.
Naquele tempo apareceram os voluntários da senhora Dermoth.
Eram jovens provenientes da cidade, que percorriam as regiões mais afastadas do país falando de um projecto humanitário para socorrer os pobres. Explicavam que nalguns lados nasciam demasiados meninos e que os pais não os podiam alimentar, enquanto noutros lados havia muitos casais sem filhos.
Apresentaram-se no rancho dos Picero com um mapa da América do Norte e uns folhetos impressos a cores onde se viam fotografias de meninos morenos junto de pais louros, em luxuosos ambientes com lareiras acesas, grandes cães peludos, pinheiros decorados com neve prateada e bolas de Natal. Depois de fazerem um rápido inventário da pobreza dos Picero, informaram-nos sobre a missão caritativa da senhora Dermoth, que localizava os meninos mais desamparados e os entregava de adopção a famílias com dinheiro, para os salvar de uma vida de miséria. Ao contrário de outras instituições destinadas ao mesmo fim, ela ocupava-se só de crianças com taras de nascimento ou afetadas por acidentes ou doenças. No Norte havia alguns casamentos - bons cristãos, evidentemente - que estavam dispostos a adoptar esses meninos. Eles dispunham de todos os recursos para os ajudar. Lá no Norte havia clínicas e escolas que faziam milagres aos surdos-mudos, por exemplo, ensinavam-nos a ler o movimento dos lábios e a falar, depois iam para colégios especiais, recebiam educação completa e alguns inscreviam-se na Universidade acabando advogados ou doutores. A organização tinha auxiliado muitos meninos, os Picero podiam ver as fotografias, como estão contentes, que saudáveis, com todos estes brinquedos, nestas casas de ricos.
Os voluntários não podiam prometer nada, mas fariam todo o possível para conseguir que um daqueles casais acolhesse Juan, para lhe dar todas as oportunidades que a sua mãe, não lhe podia oferecer.
- Nunca nos devemos separar dos filhos, aconteça o que acontecer - disse Jesús Dionisio Picero, apertando a cabeça do menino contra o peito para que não visse as caras e adivinhasse o motivo da conversa.
- Não seja egoísta, homem, pense no que é melhor para ele. Não vê que lá tem tudo? Você não tem com que lhe comprar remédios, não pode mandá-lo à escola, que vai ser dele? Este pobrezinho nem sequer tem pai.
- Mas tem mãe e bisavô - respondeu o velho.
Os visitantes partiram, deixando sobre a mesa os folhetos da senhora Dermoth. No dia seguinte, Claveles surpreendeu-se muitas vezes, olhando para eles e comparando aquelas casas amplas e bem decoradas com a modesta habitação de tábuas, telhado de palha e chão de terra batida, aqueles pais amáveis e bem vestidos, como ela própria cansada e descalça, aqueles meninos rodeados de brinquedos e o seu amassando o barro.
Uma semana mais tarde, Claveles encontrou-se com os voluntários no mercado, onde tinha ido vender algumas esculturas do avô, e voltou a ouvir os mesmos argumentos, que uma oportunidade como esta não apareceria outra vez, que a gente adopta crianças sãs, nunca atrasadas mentais, aquelas pessoas do Norte eram de nobres sentimentos, que pensasse bem nisso, porque se ia arrepender toda a vida de ter negado ao filho tantas vantagens, condenando-o ao sofrimento e à pobreza.
- Porque é que só querem meninos doentes? - perguntou Claveles.
- Porque são uns gringos meio santos. A nossa organização ocupa-se só dos casos mais penosos. Para nós seria mais fácil colocar os normais, mas queremos ajudar os desvalidos.
Claveles Picero tornou a ver os voluntários várias vezes.
Apareciam sempre que o avô não estava em casa. Até finais de Novembro mostraram-lhe o retrato de um casal de meia-idade, de pé à porta de uma casa branca rodeada de um parque, e disseram-lhe que a senhora Dermoth tinha encontrado os pais ideais para o seu filho. Apontaram-lhe no mapa o sítio preciso onde viviam, explicaram-lhe que ali havia neve no Inverno e que os meninos faziam bonecos de neve, patinavam no gelo e esquiavam, que no Outono os bosques pareciam de ouro e que no Verão podia-se nadar no lago. O casal estava tão contente com a ideia de adoptar o pequeno, que já lhe tinha comprado uma bicicleta. Também lhe mostraram a fotografia da bicicleta. E tudo isto sem contar que ofereciam a Claveles duzentos e cinquenta dólares, com o que ela podia casar-se e ter filhos sãos. Seria uma loucura recusar isso.
Dois dias mais tarde, aproveitando o facto de Jesús Dionisio ter saído para ir limpar a igreja, Claveles Picero vestiu o filho com as melhores calças, pendurou-lhe ao pescoço a medalha de batismo e explicou-lhe na língua dos gestos inventada pelo avô para ele, que não se veriam durante muito tempo, talvez nunca mais, mas que era para seu bem, que ele iria para um lugar onde teria comida todos os dias e presentes nos seus aniversários. Levou-o ao endereço dado pelos voluntários, assinou um papel entregando a custódia de Juan à senhora Dermoth e saiu a correr para que o filho não lhe visse as lágrimas e começasse também a chorar.
Quando Jesús Dionisio Picero soube do acontecido perdeu a respiração e a voz. Com murros atirou ao chão tudo o que encontrou ao seu alcance, inclusive os santos nas garrafas e virou-se para Claveles, batendo-lhe com uma violência inesperada para um velho da sua idade e tão manso de carácter.
Logo que conseguiu falar, acusou-a de ser igual à mãe, capaz de desfazer-se do próprio filho, o que nem as feras do monte fazem, e chamou o espírito de Amparo Mediria para que se vingasse daquela neta depravada. Nos meses seguintes não dirigiu a palavra a Claveles, só abria a boca para comer e murmurar maldições enquanto as mãos se ocupavam com os instrumentos de entalhar. Os Picero acostumaram-se a viver em silêncio fechado, cada um cumprindo as suas tarefas. Ela cozinhava e punha-lhe o prato na mesa, ele comia com o olhar fixo na comida... juntos cuidavam da horta e dos animais, cada um repetindo os gestos da sua própria rotina, em perfeita coordenação com o outro, sem se tocarem. No dia de feira ela pegava nas garrafas e nos santos de madeira, ia vendê-los, voltava com algumas provisões e deixava o dinheiro que ficava num pote. Aos domingos iam os dois à igreja separados, como estranhos.
Talvez tivessem passado o resto das suas vidas sem se falar se por meados de Fevereiro o nome da senhora Dermoth não tivesse sido notícia. O avô ouviu o caso pela rádio, quando Claveles estava a lavar roupa no pátio, primeiro o comentário do locutor e depois a confirmação do secretário do Bem-Estar Social em pessoa. Com o coração na boca, assumou à porta chamando Claveles aos gritos. A rapariga voltou-se e ao vê-lo tão descontrolado julgou que ele estava a morrer, correu a segurá-lo.
- Mataram-no, ai Jesus, mataram-no com certeza! - gemeu o ancião caindo de joelhos.
- A quem, avô?
- Ao Juan... - e meio sufocado pelos soluços repetiu-lhe as palavras do secretário do Bem-Estar Social, que uma organização criminosa dirigida por uma tal senhora Dermoth vendia meninos indígenas. Escolhiam os doentes ou os de famílias muito pobres, com a promessa de que seriam entregues para adopção. Mantinham-nos por algum tempo em processo de engorda e quando estavam em melhores condições levavam-nos a uma clínica clandestina, onde os operavam. Dezenas de Inocentes foram sacrificados em bancos de órgãos, para lhes tirarem os olhos, os rins, o fígado e outras partes do corpo que eram enviadas para transplantes no Norte. Acrescentou que numa das casas de engorda haviam encontrado vinte e oito crianças à espera de vez, que a Polícia entrara em acção e que o Governo continuava as investigações para desmantelar aquele horrendo tráfico.
Assim começou a longa viagem de Claveles e Jesús Dionisio Picero para falar na capital com o secretário do Bem-Estar Social. Queriam perguntar-lhe com todo o respeito devido, se entre os meninos salvos estava o seu e se porventura lho poderiam devolver. Do dinheiro recebido restava-lhes muito pouco, mas estavam dispostos a trabalhar como escravos para a senhora Dermoth pelo tempo que fosse necessário, até lhe pagar o último centavo daqueles duzentos e cinquenta dólares.
17 - O hóspede da professora
A professora Inês entrou na Pérola do Oriente, que àquela hora estava sem clientes, dirigiu-se ao balcão onde Riad Halabí enrolava um tecido de várias cores e disse que acabava de cortar o pescoço a um hóspede da sua pensão. O comerciante tirou o lenço branco e tapou a boca.
- Que dizes, Inés?
- O que acabaste de ouvir, turco.
- Está morto?
- Com certeza.
- E que vais fazer agora?
- Isso mesmo venho eu perguntar-te - disse ela, ajeitando o cabelo.
- É melhor fechar a loja - suspirou Riad Halabí. Conheciam-se desde há tanto tempo que ninguém podia recordar o número de anos, embora ambos guardassem na memória cada pormenor do primeiro dia em que iniciaram a amizade. Ele era então um daqueles vendedores ambulantes que vão pelos caminhos oferecendo as suas mercadorias, peregrino do comércio, sem bússola nem rumo fixo, um emigrante árabe com um falso passaporte turco, solitário, cansado, com lábio rachado como os coelhos e uma vontade insuportável de se sentar à sombra, e ela uma mulher ainda jovem, de ancas firmes e ombros fortes, a única professora da aldeia, mãe de um rapaz de doze anos, nascido de um amor passageiro. O filho era o centro da vida da professora, cuidava dele com uma dedicação inflexível e mal conseguia disfarçar a sua tendência ao dar-lhe mimo, aplicando as mesmas normas de disciplina que aos outros meninos da escola, para que ninguém pudesse comentar que o educava mal. E para anular a herança insociável do pai, formava-o ao contrário, para ter pensamento claro e coração bondoso. Na mesma tarde em que Riad Halabí entrou em água Santa por um dos lados, pelo outro um grupo de rapazes trazia o corpo do filho da professora Inês numa maca improvisada. Tinha-se metido num terreno alheio a colher uma manga e o proprietário, um tipo de fora que ninguém conhecia por aquelas bandas, disparou-lhe um tiro de espingarda com intenção de o assustar, marcando-lhe metade da cara com um círculo negro por onde a vida lhe fugiu. Nesse momento, o comerciante descobriu a sua vocação de chefe e, sem saber como, viu-se no centro do êxito, consolando a mãe, organizando o funeral como se fosse a um membro da família e segurando as pessoas para evitar que despedaçassem o responsável. Entretanto, o assassino compreendendo que lhe seria muito difícil salvar a vida se ficasse ali, fugiu da aldeia disposto a nunca mais voltar.
A Riad Halabí coube-lhe, na manhã seguinte, encabeçar a multidão que foi do cemitério até ao sítio onde tinha caído o menino. Todos os habitantes de água Santa passaram esse dia a transportar mangas, que atiraram pelas janelas até encher a casa por completo, desde o chão até ao tecto. Em poucas semanas o sol fermentou a fruta, que rebentou num sumo espesso, impregnando as paredes de um sangue dourado, de um pus adocicado, que transformou a vivenda num fóssil de dimensões pré-históricas, uma enorme besta em processo de podridão, atormentada por uma infinita diligência das larvas e mosquitos em decomposição.
À morte do menino, o papel que lhe coube desempenhar nesses dias e a recepção que teve em água Santa determinaram a existência de Riad Halabí. Esqueceu a sua ancestralidade de nómada e ficou na aldeia.
Instalou ali o armazém, a Pérola do Oriente. Casou-se e enviuvou, voltou a casar-se e continuou vendendo, enquanto crescia o seu prestígio de homem justo. Por seu lado, Inês educou várias gerações de crianças com o mesmo carinho tenaz que tinha dado ao filho, até que foi vencida pela fadiga.
Então deu o lugar a outras professoras chegadas da cidade com novos silabários e retirou-se. Ao deixar a escola sentiu que envelhecia subitamente e que o tempo se acelerava, os dias passavam demasiado rápidos, sem que ela pudesse recordar em que se lhe tinham ido as horas.
- Ando atordoada, turco. Estou a morrer sem dar conta disso - comentou.
- Estás tão sã como sempre, Inés. O que se passa é que te aborreces, não deves estar ociosa - replicou Riad Halabí, e deu-lhe a ideia de acrescentar alguns quartos à casa e transformá-la em pensão.
- Nesta aldeia não há hotel.
- Nem há turistas - disse ela.
- Uma cama limpa e um pequeno-almoço quente são bênçãos para os viajantes de passagem.
Assim foi, principalmente para os camionistas da Companhia de Petróleos, que ficavam para passar a noite na pensão quando o cansaço e o tédio da estrada lhes enchia o cérebro de alucinações.
A professora Inés era a matrona mais respeitada de água Santa. Educara todos os meninos do lugar durante várias décadas, o que lhe dava autoridade para intervir nas vidas de cada um e puxar-lhes as orelhas quando considerava necessário.
As raparigas levavam os noivos para que os aprovasse, os esposos consultavam-na a propósito das suas zangas, era conselheira, árbitro e juiz em todos os problemas, a sua autoridade era mais sólida que a do padre, a do médico ou a da Polícia, Nada a detinha no exercício desse poder. Numa ocasião meteu-se na casa da guarda, passou por diante do tenente sem o saudar, pegou nas chaves penduradas num prego na parede e tirou da cela um dos seus alunos, preso por causa de uma bebedeira. O oficial tentou impedi-la, mas ela deu-lhe um empurrão e levou o rapaz pelo pescoço. Uma vez na rua, deu-lhe um par de bofetadas e disse-lhe que da próxima vez ela mesma lhe baixaria as calças para lhe dar uma tareia inesquecível.
No dia em que Inês foi anunciar-lhe que tinha matado um cliente, Riad Halabí não teve nem a mais pequena dúvida de que falava a sério, porque a conhecia demasiado bem. Pegou-lhe pelo braço e caminhou com ela os dois quarteirões que separavam a Pérola do Oriente de sua casa. Era uma das melhores construções da aldeia, de adobe e madeira, com um alpendre amplo onde se penduravam redes nas tardes mais quentes, banhos com água corrente e ventoinhas em todos os quartos. A essa hora parecia vazia, apenas um hóspede descansava na sala bebendo cerveja com o olhar perdido na televisão.
- Onde está? - sussurrou o comerciante árabe.
- Num quarto das traseiras - respondeu ela sem baixar a voz.
Levou-o à fila dos quartos de aluguer, todos ligados por um longo corredor coberto, com amores-perfeitos roxos trepando pelas colunas e vasos com fetos pendurados das vigas, à volta de um pátio onde cresciam nespereiras e bananeiras. Inés abriu a última porta e Riad Halabí entrou no quarto sombrio. As persianas estavam fechadas, por isso necessitou de alguns instantes para habituar os olhos e ver sobre a cama o corpo de um velho de aspecto inofensivo, um forasteiro decrépito, nadando no charco da sua própria morte, com as calças manchadas de excrementos, a cabeça pendurada de uma tira de pele lívida e uma terrível expressão de desconsolo, como se estivesse a pedir desculpa por tanta confusão e sangue e pelo sarilho tremendo de ter-se deixado assassinar. Riad Halabí sentou-se na única cadeira do quarto, com os olhos fixos no chão, tentando controlar o sobressalto do estômago. Inês ficou de pé, de braços cruzados sobre o peito, calculando que necessitaria de dois dias para lavar as manchas, e outros dois, pelo menos, para arejar o cheiro a merda e a espanto.
- Como fizeste isto? - perguntou por fim Riad Halabí, enxugando o suor.
- Com a catana de abrir os cocos. Vim por trás e dei-lhe um só golpe. Nem deu conta, pobre diabo.
- Mas porquê?
- Tinha de o fazer, a vida é assim. Olha que pouca sorte, este velho não pensava parar em água Santa, ia a atravessar a aldeia e uma pedra partiu-lhe o vidro do carro. Veio passar umas horas aqui enquanto o italiano da garagem lhe substituiu o vidro. Mudou muito, todos envelhecemos, segundo parece, mas reconheci-o logo. Esperei-o muitos anos, certa de que ele viria, mais tarde ou mais cedo. É o homem das mangas.
- Alá nos ampare! - murmurou Kiad Halabí.
- Achas que devemos chamar o tenente?
- Nem a brincar, não penses nisso!
- Estou no meu direito, ele matou o meu filho.
- Não ia compreender isso, Inês.
- Olho por olho, dente por dente, turco. Não é isso que diz a tua religião?
- A lei não funciona desse modo, Inês.
- Bom, então podemos compô-lo um pouco e dizer que se suicidou.
- Não lhe toques. Quantos hóspedes há em casa?
- Apenas um camionista. Vai-se embora logo que faça fresco, tem de guiar até à capital.
- Bem, então não recebas mais ninguém. Fecha à chave a porta deste quarto e espera por mim. Volto à noite.
- Que vais fazer?
- Vou arranjar as coisas à minha maneira.
Riad Halabí tinha sessenta e cinco anos, mas ainda conservava o mesmo espírito que o colocou à cabeça da multidão no dia em que chegou a água Santa. Saiu da casa da professora Inês e encaminhou-se em passo rápido para a primeira das várias visitas que ia ter naquela tarde. Nas horas seguintes, um cochichar persistente percorreu a aldeia, cujos habitantes sacudiram o torpor de anos, excitados pela mais fantástica das notícias, que foram repetindo de casa em casa como um contido rumor, uma notícia que fazia estalar tudo aos gritos e que a necessidade de a manter num murmúrio lhe dava um valor especial. Antes do pôr do Sol já se sentia no ar essa inquietação alvoroçada que nos anos seguintes seria uma característica da aldeia, incompreensível para os forasteiros de passagem, que não podiam ver nesse lugar nada de extraordinário, mas apenas uma vitória insignificante, como tantas outras, à beira da selva. Desde cedo começaram a chegar os homens à taberna, as mulheres saíam para os passeios com as suas cadeiras de cozinha e punham-se a tomar ar, os jovens acudiram em massa à praça como se fosse domingo.
O tenente e os seus homens deram duas ou três voltas de rotina e depois aceitaram o convite das raparigas do bordel, que celebravam um aniversário, segundo disseram. Ao anoitecer havia mais gente na rua que no dia de Todos-os-Santos, cada qual ocupando-se nos seus afazeres com tão aparatosa diligência que, pareciam pousar para uma película, jogando dominó, outros a beber rum e a fumar pelas esquinas, casais passeando de mão dada, as mães a brincar com os filhos, as avós a espiar pelas portas abertas. O padre acendeu as luzes da paróquia e fez tocar os sinos para a reza da novena de Santo Isidoro Mártir, mas nhinguém estava com vontade para aquele tipo de devoção.
Às nove e meia reuniram-se em casa da professora Inés, o árabe, o médico da aldeia e quatro jovens que ela educara desde as primeiras letras e eram já uns homenzarrões regressados do serviço militar. Riad Halabí levou-os até ao último quarto, onde encontraram o cadáver coberto de insectos, porque a janela ficara aberta e era a hora da mosquitada.
Meteram o infeliz num saco de lona, baixaram-no suspenso até à rua e puseram-no sem maiores cerimônias na parte detrás do veículo de Riad Halabí. Atravessaram toda a povoação pela rua principal saudando como era costume as pessoas com que cruzassem pelo caminho. Alguns retribuíram o cumprimento com exagerado entusiasmo, enquanto outros fingiam não os ver, rindo-se dissimuladamente, como meninos surpreendidos nalguma travessura. A camioneta dirigiu-se para o lugar onde anos antes o filho da professora Inês se esticou pela última vez para colher uma fruta. No resplendor da Lua viram a propriedade invadida pela erva maligna do abandono, deteriorada pela decrepitude e as más recordações, uma colina emaranhada onde as mangueiras cresciam selvagens, os frutos caíam dos ramos e apodreciam no chão, dando nascimento a outras matas que por sua vez engendravam outras e assim por diante até criar uma selva fechada que tinha engolido as vedações, o caminho e até os despojos da casa, da qual só ficava um resto quase tão imperceptível como o cheiro da marmelada. Os homens acenderam as lanternas de petróleo e começaram a andar pelo bosque dentro, abrindo passagem à catanada. Quando consideraram que já tinham avançado bastante, um deles apontou o chão e ali, aos pés de uma árvore gigantesca carregada de fruta, cavaram um buraco profundo, onde meteram o saco de lona.
Antes de o cobrir de terra, Riad Halabí disse uma pequena oração muçulmana, porque não conhecia outras. Regressaram à povoação pela meia-noite e viram que ainda ninguém tinha arredado pé, as luzes continuavam acesas em todas as janelas e pelas ruas transitava gente.
Entretanto, a professora Inés lavara com água e sabão as paredes, e os móveis do quarto, queimara a roupa da cama, arejara a casa e esperava os amigos com a ceia preparada e um jarro de rum com sumo de ananás. O repasto decorreu com alegria, comentando-se as últimas lutas de galos, desporto bárbaro segundo a professora, mas menos bárbaro que as corridas de touros, onde um matador colombiano acabava de perder o fígado, diziam os homens. Riad Halabí foi o último a despedir-se. Nessa noite, pela primeira vez na sua vida, sentia-se velho. à porta, a professora inés pegou-lhe nas mãos e reteve-as um instante nas suas.
- Obrigada, turco - disse-lhe.
- Porque me chamaste a mim, Inés?
- Porque tu és a pessoa de quem mais gosto neste mundo, e porque devias ter sido tu o pai do meu filho.
No dia seguinte, os habitantes de água Santa voltaram aos seus afazeres de sempre, engrandecidos por uma cumplicidade magnífica, por um segredo de bons vizinhos, que haveriam de guardar com o maior zelo, passando-o uns aos outros, por muitos anos como uma lenda de justiça, até que a morte da professora Inês nos libertou a todos e agora posso contar tudo.
18 - Com o devido respeito
Eram dois malandros. Ele tinha cara de corsário, cabelo e bigode cor de azeviche, mas com o tempo mudou de estilo, deixou ficar as cãs, que lhe suavizaram a expressão e lhe deram um ar mais circunspecto. Ela era robusta com a pele leitosa das saxas ruivas, uma pele que na juventude reflecte a luz com brilhos de opala, mas que na idade madura se transforma em papel manchado. Os anos que passou nos acampamentos petrolíferos, nas aldeolas da fronteira não lhe acabaram o vigor, herança dos antepassados escoceses. Nem os mosquitos, nem o calor, nem o mau uso lhe puderam esgotar o corpo ou diminuir-lhe a vontade de mandar. Aos catorze anos abandonou o pai, um pastor protestante que pregava a Bíblia em plena selva, trabalho de todo inútil porque ninguém entendia o seu linguajar em inglês e porque naquelas latitudes as palavras, inclusive as de Deus, perdem-se na algaraviada das aves. Nessa idade a rapariga já tinha alcançado a sua estatura definitiva e estava em pleno domínio da sua pessoa. Não era uma sentimental. Afastou um a um os homens que, atraídos pela labareda incandescente dos seus cabelos, tão raro nos trópicos, lhe ofereceram protecção. Não tinha ouvido falar do amor e não estava no seu temperamento inventá-lo, mas soube tirar o melhor partido do único bem que possuía e ao cumprir vinte e cinco anos já tinha um punhado de diamantes cosidos na bainha da saia. Entregou-os sem vacilar a Domingo Toro, o único homem que conseguiu domá-la, um aventureiro que percorria a região à caça de caimões e a traficar com armas e uísque falsificado. Era um velhaco sem escrúpulos, o companheiro perfeito para Abigail McGovern.
Nos primeiros tempos o casal teve de inventar negócios algo extravagantes para aumentar o seu capital. Com os diamantes dela e algumas poupanças que fizera com o contrabando, as peles de lagarto e as batotas no jogo, Domingo comprou fichas no casino, porque soube que eram idênticas às do casino do outro lado da fronteira, onde o valor da moeda era muito superior. Encheu uma maleta de fichas e viajou para as trocar por dinheiro sonante que se pudesse contar. Conseguiu repetir duas vezes a mesma operação antes que as autoridades dessem por isso e quando o fizeram aconteceu que não o puderam acusar de nada ilegal. Entretanto, Abigail fazia comércio com potes de barro que comprava aos camponeses e vendia como peças arqueológicas aos gringos da Companhia de Petróleos, com tanta sorte que depressa pôde ampliar a sua empresa vendendo falsas pinturas coloniais, feitas por um estudante num canto detrás da catedral, envelhecidas à pressa com água do mar, fuligem e urina de gato. Então ela tinha posto de parte os modos e as palavras de ladrão de cavalos, cortara o cabelo e vestia trajes caros. Embora o seu gosto fosse muito rebuscado e os esforços para parecer elegante demasiado notórios, podia passar por uma senhora, o que facilitava as suas relações sociais e contribuia para o êxito dos seus negócios. Marcava entrevistas com os seus clientes nos salões do Hotel Inglês e enquanto servia o chá com os gestos medidos que aprendera a copiar, falava de caçadas e campeonatos de ténis em hipotéticos lugares de nome britânico, que ninguém podia localizar em mapa algum. Depois da terceira taça mencionava em tom confidencial o propósito desse encontro, mostrava fotografias das supostas antiguidades e deixava claro que a sua intenção era salvar esses tesouros da negligência local.
O governo não tinha recursos para preservar aqueles objetos extraordinários, dizia ela, e mandá-los para fora do país, ainda que fosse ilegal, era um acto de consciência arqueológica.
Logo que os Toro lançaram as bases de uma pequena fortuna, Abigail pretendeu fundar uma estirpe e convenceu Domingo da necessidade de ter um bom nome.
- Que há de mal com o nosso?
- Ninguém se chama Toro, é um apelido de taberneiro - respondeu Abigail.
- É o nome do meu pai e não posso mudá-lo. Nesse caso há que convencer toda a gente de que somos ricos.
Sugeriu comprar terras e semear bananeiras ou café, como os godos de outros tempos, mas a ele não lhe atraía a ideia de ir para as províncias do interior, terra selvagem, exposta a bandos de ladrões, ao exército ou a guerrilheiros, a víboras e a todas as espécies de peste; achava que era uma estupidez partir para a selva em busca do futuro porque ele se encontrava ao alcance da mão na capital, era mais seguro dedicar-se ao comércio como os milhares de sírios e judeus que desembarcavam com um molho de misérias às costas e que ao cabo de poucos anos viviam com fartura.
- Nada de turquices. O que eu quero é uma família respeitável, que nos chamem senhor e senhora e ninguém se atreva a falar-nos de chapéu na cabeça - disse ela.
Mas ele insistiu e ela acabou por acatar a sua decisão como fazia quase sempre, porque quando se punha na frente do marido mortificava-o com longos períodos de abstinência e silêncio.
Nessas ocasiões ele desaparecia de casa por vários dias, regressava maltratado por amores clandestinos, mudava de roupa e voltava a sair, deixando Abigail a princípio furiosa e depois aterrada com a ideia de o perder. Ela era uma pessoa prática, carecida por completo de sentimentos românticos e se alguma vez houve nela uma semente de ternura, os anos de mulher vulgar destruíram-na, mas Domingo era o único homem que podia tolerar a seu lado e não estava disposta a deixá-lo partir. Mal Abigail cedia, ele voltava a dormir na sua cama.
Não havia reconciliações ruidosas, retomavam simplesmente o ritmo da rotina e voltavam à cumplicidade das suas vigarices.
Domingo Toro instalou uma cadeia de tendas nos bairros pobres, onde vendia muito barato, mas em grandes quantidades. As tendas serviam de local para outros negócios menos lícitos. O dinheiro continuou a amontoar-se, podiam pagar extravagâncias de ricos, mas Abigail não estava satisfeita, porque viu que uma coisa era viver com luxo e outra, muito diferente, era serem aceites na sociedade.
- Se me tivesses ouvido não nos confundiriam com comerciantes árabes. Pores-te a vender trapos! - disse censurando o marido.
- Não sei de que te queixas, temos tudo!
- Continua com os teus bazares de pobres, se é isso que queres. Eu vou comprar cavalos de corrida.
- Cavalos? Que sabes tu de cavalos, mulher?
- Que são elegantes e que toda a gente importante tem cavalos.
- Vamos arruinar-nos!
Por fim, Abigail conseguiu impor a sua vontade e em pouco tempo tiveram a prova de que não tinha sido má ideia. Os animais deram-lhes pretextos para lidar com as antigas famílias de criadores e além disso acabaram por ser rentáveis, mas ainda que os Toro aparecessem com frequência nas páginas hípicas da imprensa, nunca estavam na crónica social.
Despeitada, Abigail tornou-se cada vez mais espampanante.
Encomendou um serviço de porcelana com o seu retrato pintado à mão em cada peça, taças de cristal gravado e móveis com gárgulas furiosas nas patas, além de um coçado cadeirão que fez passar por relíquia colonial, dizendo a toda a gente que havia pertencido ao Libertador, razão por que lhe atou um cordão vermelho na frente, para que ninguém pudesse poisar o rabo onde o pai da Pátria o tinha feito. Contratou uma preceptora alemã para os seus filhos e um vagabundo holandês, a quem vestiu de almirante, para manobrar o iate da família.
Os únicos vestígios do passado eram as tatuagens de flibusteiro de Domingo e uma lesão nas costas de Abigail, em consequência de serpentear de pernas abertas nos seus tempos de barbárie; mas ele tapava as tatuagens com mangas compridas e ela mandou fazer um espartilho de ferro com almofadinhas de seda para a dor não lhe destruir a dignidade. Por essa altura era uma mulherona obesa, coberta de joias, parecida com Nero.
A ambição marcou nela os estragos físicos que as aventuras da selva não tinham conseguido fazer-lhe. Com a intenção de atrair o mais selecto da sociedade, os Toro ofereciam em cada ano no Carnaval uma festa de máscaras: a corte de Bagdade com o elefante e os camelos do zoológico e um exército de moços vestidos de beduínos; o Baile de Versailhes, onde os convidados com trajes de brocado e perucas empoadas dançavam minuete entre espelhos biselados; e outras pândegas escandalosas que passaram a fazer parte das lendas locais e deram motivo a violentas polémicas, nos jornais de esquerda.
Tiveram de pôr guardas na casa para impedir que os estudantes, indignados pelo esbanjamento, pintassem palavras de ordem nas colunas e atirassem merda pelas janelas, alegando que os novos-ricos enchiam as suas banheiras com champanhe enquanto os novos pobres caçavam os gatos dos telhados para comer.
Essas festanças deram-lhes certa respeitabilidade, porque nessa altura a linha que dividia as classes sociais estava a esfumar-se, ao país chegava gente de todos os cantos da terra atraída pelo miasma do petróleo, a capital crescia sem controlo, as fortunas faziam-se e perdiam-se num esfregar de olhos e já não havia a possibilidade de averiguar as origens de cada um. No entanto, as famílias de linhagem mantinham os Toro à distância, apesar de elas próprias descenderem de outros emigrantes cujo único mérito era terem chegado àquelas costas com meio século de antecipação. Assistiam aos banquetes de Domingo de Abigail e, por vezes, passeavam pelo Caribe no iate guiado pela mão firme do capitão holandês, mas não retribuíam as atenções recebidas. Talvez Abigail tivesse de se resignar a um segundo plano, se um acontecimento inesperado não lhes desse volta à sorte.
Nessa tarde de Agosto, Abigail acordou da sesta afogueada, fazia muito calor e o ar estava carregado com presságio de tormenta. Enfiou um vestido de seda sobre o espartilho e fez-se conduzir ao salão de beleza. O automóvel atravessou as ruas atafulhadas de tráfego com os vidros fechados, para evitar que algum ressentido - desses que havia cada vez mais - cuspisse à senhora pela janela, e parou no local às cinco em ponto, onde entrou depois de indicar ao motorista que a fosse buscar uma hora mais tarde. Quando o homem regressou a buscá-la, Abigail não estava. As cabeleireiras disseram que cinco minutos depois de chegar, a senhora anunciou que ia fazer uma curta diligência e não voltara. Entretanto, Domingo Toro recebeu no seu escritório a primeira chamada dos Pumas Vermelhos, um grupo extremista do qual ninguém ouvira falar até então, a dizer que lhe tinham sequestrado a mulher.
Assim começou o escândalo que salvou o prestígio dos Toro. A Polícia prendeu o motorista e as cabeleireiras, vasculharam bairros inteiros, cercaram a casa dos Toro, com o consequente incômodo para os vizinhos.
Um autocarro da televisão bloqueou a rua durante dias e um tropel de jornalistas, detectives e curiosos pisou os relvados da casa. Domingo Toro apareceu nos ecrãs, sentado no cadeirão de couro da sua biblioteca, entre um mapa-múndi e uma égua embalsamada implorando aos energúmenos que lhe dessem a mãe dos seus filhos. O magnata dos barateiros, como lhe chamou a imprensa, oferecia um milhão pela mulher, cifra muito exagerada, porque outro grupo guerrilheiro só conseguira metade por um embaixador do Médio Oriente. No entanto, os Pumas Vermelhos não acharam suficiente e pediram o dobro.
Depois de ver a fotografia de Abigail nos jornais, muitos pensaram que o melhor negócio de Domingo seria pagar esta quantia, não para recuperar o cônjuge, mas para que os raptores ficassem com ela. Uma exclamação incrédula percorreu o país quando o marido, depois de algumas consultas a banqueiros e advogados, aceitou a combinação, apesar das advertências da Polícia. Horas antes de entregar a soma estipulada, recebeu por correio uma madeixa de cabelo ruivo e uma carta indicando que o preço aumentara mais um quarto de milhão. Nessa altura os filhos dos Toro, também foram à televisão enviar a mensagem de desespero filial a Abigail. O macabro remate foi subindo de tom dia a dia, ante o olhar atento da imprensa.
O suspense acabou cinco dias mais tarde, precisamente quando a curiosidade do público começava a desviar-se para outras direções. Abigail apareceu atada e amordaçada num carro estacionado em pleno centro, um pouco nervosa e despenteada, mas sem danos visíveis e até um pouco mais gorda. Na tarde em que Abigail regressou a casa, juntou-se uma pequena multidão na rua para aplaudir aquele marido que tinha dado tal prova de amor.
Perante a perseguição dos jornalistas e as exigências da Polícia, Domingo Toro assumiu uma atitude de discreta galanteria, negando-se a revelar quanto havia pago, com o argumento de que a esposa não tinha preço. O exagero popular atribuiu-lhe uma cifra absolutamente improvável, muito mais do que algum homem alguma vez pagara por uma mulher e muito menos pela sua. Isso tornou os Toro um símbolo de opulência, dizia-se que eram tão ricos como o presidente, que beneficiara durante anos das receitas do petróleo da nação e cuja fortuna se calculava como uma das cinco maiores do mundo. Domingo e Abigail, foram equiparados à alta sociedade, onde não tinham tido acesso até então. Nada embaciou o seu triunfo, nem sequer os protestos públicos dos estudantes, que penduraram panos na Universidade acusando Abigail de se sequestrar a si mesma, o magnata de tirar os milhões de um bolso para os meter no outro, sem pagar impostos e a Polícia de usar o conto dos Pumas Vermelhos para assustar as pessoas e justificar as purgas contra os partidos da oposição. Mas as más-línguas não conseguiram destruir o magnífico efeito do sequestro e dez anos depois os Toro McGovern tinham-se tornado numa das famílias mais respeitadas do país.
19 - Vida interminável
Há histórias de toda a espécie. Algumas nascem ao ser contadas, a sua substância é a linguagem e antes que alguém as ponha em palavras são apenas uma emoção, um capricho da mente, uma imagem ou uma reminiscência intangível. Outras chegam completas, como maças, e podem repetir-se até ao infinito sem risco de alterar o seu sentido. Existem umas que são tomadas pela realidade e processadas pela inspiração, enquanto outras nascem de um instante de inspiração e se transformam em realidade ao ser contadas. E há histórias secretas que permanecem ocultas nas sombras da memória, são como organismos vivos, nascem-lhes raízes, tentáculos, enchem-se de aderências e parasitas e com o tempo transformam-se em matéria de pesadelos. Por vezes para exorcizar os demónios de uma recordação é necessário contá-la como um conto.
Ana e Roberto Blaum envelheceram juntos, tão unidos que com os anos chegaram a parecer irmãos; ambos tinham a mesma expressão de surpresa benevolente, rugas, gestos das mãos, inclinação dos ombros iguais; os dois estavam marcados por costumes e anseios semelhantes. Tinham compartilhado cada dia durante a maior parte das suas vidas e de tanto andar de mão dada e de dormir abraçados podiam pôr-se de acordo para se encontrarem no mesmo sonho. Nunca se tinham separado desde que se haviam conhecido, meio século atrás. Nessa época Roberto estudava medicina e já tinha a paixão que determinou a sua existência de lavar o mundo e redimir o próximo, e Ana era uma dessas jovens virginais capaz de embelezar tudo com a sua candura. Descobriram-se através da música. Ela era violinista de uma orquestra de câmara e ele, que vinha de uma família de virtuosos e gostava de tocar piano, não perdia nem um concerto. Distinguiu no palco aquela rapariga vestida de veludo preto e pescoço de rendas que tocava o seu instrumento com os olhos fechados e apaixonou-se por ela à distância.
Passaram meses antes que se atrevesse a falar-lhe e quando o fez bastaram quatro frases para que ambos compreendessem que estavam destinados a um vínculo perfeito. A guerra surpreendeu-os antes que pudessem casar e, como milhares de judeus alucinados pelo horror das perseguições, tiveram de fugir da Europa. Embarcaram num porto da Holanda, sem mais bagagem que a roupa que vestiam, alguns livros de Roberto e o violino de Ana. O barco andou dois anos à deriva, sem poder atracar em nenhum cais, porque as nações do hemisfério não quiseram aceitar o seu carregamento de refugiados. Depois de dar voltas por vários mares, arribou às costas do Caribe. Já tinha o casco como uma couve-flor de conchas e líquenes, a humidade remanescia no seu interior num gotejar persistente, as máquinas tinham-se tornado verdes e todos os tripulantes e passageiros - menos Ana e Roberto defendidos da falta de esperança pela ilusão do amor - haviam envelhecido duzentos anos. O capitão, resignado com a ideia de continuar a deambular eternamente, lançou o ferro da sua carcaça de transatlântico num recanto da baía, em frente de uma praia de areias fosforescentes e esbeltas palmeiras coroadas de plumas, para que os marinheiros fossem à noite buscar água doce para os depósitos. Mas eles nunca mais chegaram. Ao amanhecer do dia seguinte foi impossível pôr as máquinas a trabalhar, corroídas pelo esforço de se moverem com uma mistura de água salgada e pólvora, à falta de combustíveis melhores. A meio da manhã apareceram numa lancha as autoridades do porto mais próximo, um punhado de mulatos alegres de uniforme desabotoado e a melhor vontade, que de acordo com o regulamento os mandaram sair das suas águas territoriais, mas que ao saber da triste sorte dos navegantes e o deplorável estado do navio sugeriram ao capitão que ficassem uns dias ali a apanhar sol, para ver se, ficando à vontade, os problemas se resolveriam por si, como acontece quase sempre. Durante a noite todos os habitantes daquele navio desditoso desceram nos botes, pisaram as areias quentes daquele país, cujo nome mal sabiam pronunciar e perderam-se terra dentro na voluptuosa vegetação, dispostos a cortar as barbas, tirar os trapos bolorentos e afastar os ventos oceânicos que lhes tinham curtido a alma.
Assim começaram Ana e Roberto Blaum os seus destinos de emigrantes, primeiro trabalhando como operários para sobreviver e mais tarde, quando já tinham aprendido as regras daquela sociedade versátil, lançaram raízes e ele pôde acabar os estudos de medicina interrompidos pela guerra.
Alimentavam-se de banana e café, viviam numa pensão humilde, num quarto de dimensões escassas, com a janela virada para um candeeiro da rua. à noite, Roberto aproveitava essa luz para estudar e Ana para coser. Ao terminar o trabalho, ele sentava-se a olhar as estrelas sobre os telhados vizinhos e ela tocava antigas melodias no seu violino, costume que conservaram como forma de fechar o dia. Anos depois, quando o nome de Blaum foi célebre, esses tempos de pobreza eram mencionados como referência romântica nos prólogos dos livros ou nas entrevistas dos jornais. A sorte mudou para eles, mas eles mantiveram a sua atitude de extrema modéstia, porque não conseguiram apagar as sequelas dos sofrimentos passados nem podiam livrar-se da sensação de carência própria do exílio.
Eram os dois da mesma estatura, de pupilas claras e ossos fortes. Roberto tinha aspecto de sábio, uma melena em desordem a coroar-lhe as orelhas, usava lentes grossas com aros redondos de tartaruga, vestia sempre fato cinzento, que substituía por outro igual quando Ana se recusava continuar a cerzir os punhos, e apoiava-se a um bastão de bambu que um amigo lhe trouxera da índia. Era um homem de poucas palavras, preciso no falar como em tudo o resto, mas com um delicado sentido de humor que suavizava o peso dos seus conhecimentos.
Os seus alunos haveriam de o recordar como o mais bondoso dos professores. Ana tinha um temperamento alegre e confiante, era incapaz de imaginar a maldade dos outros e por isso estava imune. Roberto reconhecia que a mulher era dotada de um admirável sentido prático e desde o princípio delegou nela as decisões importantes e a administração do dinheiro. Ana cuidava do marido com mimos de mãe, cortava-lhe o cabelo e as unhas, vigiava a sua saúde, a sua comida e o seu sono, estava sempre ao alcance do seu chamamento.
A companhia um do outro era para eles tão indispensável que Ana renunciou à vocação musical, porque isso tê-la-ia obrigado a viajar com frequência, e só tocava o violino na intimidade da casa. Acostumou-se a ir à noite com Roberto, à morgue ou à biblioteca da Universidade onde ele ficava a investigar durante longas horas. Ambos gostavam da solidão e do silêncio dos edifícios fechados.
Depois regressavam, caminhando pelas ruas vazias até ao bairro de pobres onde se encontrava a sua casa. Com o crescimento descontrolado da cidade esse sector tornou-se um ninho de traficantes, prostitutas e ladrões, onde nem os carros da Polícia se atreviam a circular depois do pôr do Sol, mas eles atravessavam-no de madrugada sem serem molestados.
Toda a gente os conhecia. Não havia doença nem problema que não fosse discutido com Roberto e nenhum menino crescera ali sem provar os biscoitos de Ana. Alguém se encarregava de explicar aos estranhos que, por questão de princípio, os velhos eram intocáveis. Acrescentavam que os Blaum constituíam um orgulho para a Nação, que o presidente em pessoa havia condecorado Roberto e que eram tão respeitáveis, que nem mesmo a Guarda os incomodava quando entrava na vizinhança com as suas máquinas de guerra para vasculhar as casas uma a uma.
Eu conheci-os no fim da década de 60, quando na sua loucura a minha madrinha cortou o pescoço com uma navalha. Levámo-la ao hospital, sangrando em borbotões, sem que ninguém acalentasse a esperança real de a salvar, mas tivemos a boa sorte de Roberto Blaum estar ali e começar tranquilamente a coser-lhe a cabeça no seu lugar. Perante o assombro dos outros médicos, a minha madrinha recuperou. Passei muitas horas sentada junto da sua cama durante as semanas de convalescência e tive várias ocasiões para conversar com Roberto. A pouco e pouco iniciámos uma sólida amizade. Os Blaum não tinham filhos e julgo que isso lhes fazia falta, porque com o tempo chegaram a tratar-me como se o fosse. Ia vê-los com frequência, raramente de noite para não me aventurar sozinha naquele bairro; ao almoço, eles recebiam-me com um prato especial. Eu gostava de ajudar Roberto no jardim e Ana na cozinha. às vezes ela pegava no violino e presenteava-me com um par de horas de música.
Entregaram-me a chave da casa e quando viajavam eu tratava-lhes do cão e regava-lhes as plantas.
Os êxitos de Roberto Blaum haviam começado cedo, apesar do atraso que a guerra impusera à sua carreira. Numa idade em que outros médicos se iniciam nas salas de operações, ele já tinha publicado alguns ensaios de mérito, mas a sua notoriedade começou com a publicação do seu livro sobre o direito a uma morte sossegada. Não exercia a medicina privada, salvo quando se tratava de um amigo ou vizinho, e preferia praticar o seu ofício nos hospitais de pobres, onde podia atender um maior número de enfermos e aprender todos os dias qualquer coisa de novo.
Longos turnos nos pavilhões de moribundos inspiraram-lhe uma compaixão por esses corpos frágeis entubados às máquinas de viver, com o suplício das agulhas e mangueiras, a quem a ciência negava um final digno com o pretexto de que se deve manter o alento por qualquer preço. Doía-lhe não os poder ajudar a deixar este mundo e estar obrigado, pelo contrário, a retê-los contra a sua vontade, agonizantes, nas suas camas.
Nalgumas ocasiões, o tormento imposto a um dos seus enfermos tornava-se tão insuportável que não conseguia afastá-lo nem um momento do seu espírito. Ana tinha de o acordar, porque gritava quando dormia. No refúgio dos lençóis ele abraçava-se à mulher, a cara escondida entre os seus seios, desesperado.
- Porque não desligas os tubos e alivias os padecimentos desse pobre infeliz? É o mais piedoso que podes fazer. Ele vai morrer de qualquer maneira, mais cedo ou mais tarde...
- Não posso, Ana. A lei é muito clara, ninguém tem direito sobre a vida de outra pessoa, mas para mim isto é um problema de consciência.
- Já passámos antes por isto e todas as vezes tornas a ter os mesmos remorsos. Ninguém o irá saber, será coisa de um ou dois minutos.
Se em qualquer ocasião Roberto o fez, só Ana o soube. O seu livro propunha que a morte, com a sua ancestral carga de terror, é apenas o abandono de um invólucro que já não serve, enquanto o espírito se reintegra na energia única do cosmo. A agonia, como o nascimento, é uma etapa da viagem e merece a mesma misericórdia. Não há a menor virtude em prolongar os gemidos e tremuras de um corpo para além do fim natural, e o trabalho do médico deve ser facilitar esse fim em vez de contribuir para a pesada burocracia da morte. Mas tal decisão não podia depender apenas do discernimento dos profissionais ou da misericórdia dos parentes, era necessário que a lei estabelecesse um critério.
A proposta de Blaum provocou um alvoroço em sacerdotes, advogados e doutores. Imediatamente o assunto transcendeu os círculos científicos e invadiu a rua, dividindo as opiniões.
Pela primeira vez alguém falava disso - até então a morte fora um assunto silenciado, apostava-se na imortalidade, cada qual com a secreta esperança de viver para sempre. Enquanto a discussão se manteve a nível filosófico, Roberto Blaum apresentou-se em todos os foros para defender a sua asserção, mas quando se tornou noutra diversão das massas, ele refugiou-se no seu trabalho, escandalizado com a vergonhosa exploração da sua teoria com fins comerciais. A morte passou a primeiro plano, despojada de toda a realidade, convertida em alegre motivo de moda.
Uma parte da imprensa acusou Blaum de promover a eutanásia e comparou as suas ideias com as dos nazis, enquanto outra parte o aclamava como um santo. Ele ignorou a polémica e continuou as suas investigações e o trabalho no hospital. O seu livro foi traduzido em várias línguas e difundido noutros países, onde o tema também provocou reacções apaixonadas. O seu retrato saía com frequência nas revistas científicas. Naquele ano ofereceram-lhe uma cátedra na Faculdade de Medicina e logo se tornou o professor mais solicitado pelos estudantes. Não havia ponta de arrogância em Roberto Blaum, nem o fanatismo exultante dos administradores das revelações divinas, apenas a calma certeza dos homens estudiosos. Quanto maior era a fama de Roberto, mais recolhida se tornou a vida dos Blaum. O impacte dessa rápida celebridade assustou-os e acabaram por admitir muito poucos no seu círculo mais íntimo.
A teoria de Roberto foi esquecida pelo público com a mesma rapidez com que entrou na moda. A lei não foi alterada, nem sequer se discutiu o problema no Congresso, mas no âmbito académico e científico o prestígio do médico aumentou. Nos trinta anos seguintes, Blaum formou várias gerações de cirurgiões, descobriu novas drogas e técnicas cirúrgicas e organizou um sistema de consultórios ambulantes, com carroças, barcos e avionetas equipados com tudo o que fosse necessário para atender desde partos até epidemias diversas, que percorriam o território nacional levando socorro às zonas mais remotas, até onde, antes deles, só os missionários tinham posto os pés. Ganhou incontáveis prêmios, foi reitor da Universidade durante uma década e ministro da Saúde durante duas semanas, tempo que demorou a juntar as provas da corrupção administrativa e do esbanjamento dos recursos e apresentá-las ao presidente, que não teve outra alternativa senão destituí-lo porque não era caso de remexer nos alicerces do governo para satisfazer um idealista. Nesses anos Blaum continuou as investigações com moribundos. Publicou vários artigos sobre a obrigação de dizer a verdade aos doentes graves, para que tivessem tempo de acomodar a alma e não ficarem espantados pela surpresa de morrer, e ainda sobre o respeito devido aos suicidas e às formas de pôr fim à própria vida sem dores nem estridências inúteis.
O nome de Blaum tornou a pronunciar-se pelas ruas quando foi publicado o seu último livro, que não só abanou a ciência tradicional, como provocou uma avalancha de ilusões em todo o país. Na sua longa experiência em hospitais, Roberto tinha tratado inúmeros doentes de cancro e observara que enquanto alguns eram vencidos pela morte outros sobreviviam com o mesmo tratamento. No seu livro, Roberto queria demonstrar a relação entre o cancro e o estado de espírito e assegurava que a tristeza e a solidão facilitam a multiplicação das células malignas, porque quando o enfermo está deprimido baixam as defesas do corpo, pelo contrário, se tem boas razões para viver o seu organismo luta sem tréguas contra o mal. Explicava que a cura, portanto, não pode limitar-se à cirurgia, à química ou a remédios de boticário, que atacam apenas as manifestações físicas, mas que deve contemplar sobretudo a condição do espírito. O último capítulo sugeria que a melhor disposição se encontra naqueles que contam com um bom casamento ou alguma outra forma de carinho, porque o amor tem um efeito benéfico que nem as drogas mais poderosas podem superar.
A imprensa percebeu de imediato as fantásticas possibilidades desta teoria e pôs na boca de Blaum coisas que ele nunca dissera. Se antes a morte causara um alvoroço pouco usual, desta vez alguma coisa igualmente natural foi tratada como novidade. Atribuíram ao amor virtudes da Pedra Filosofal e disseram que podia curar todos os males. Todos falavam do livro, mas muito poucos o tinham lido. A simples suposição de que o facto pode ser bom para a saúde complicou-se na medida em que toda a gente quis juntar-lhe ou tirar-lhe qualquer coisa, até que a ideia original de Blaum se perdeu num emaranhado de absurdos, criando uma confusão colossal no público. Não faltaram os pícaros a tentar tirar proveito do assunto, apoderando-se do amor como se ele fosse invento próprio. Proliferaram novas seitas esotéricas, escolas de psicologia, cursos para principiantes, clubes para solitários, pílulas de atracção infalível, perfumes devastadores e uma infinidade de adivinhos de cordel que usaram os seus baralhos e bolas de vidro para vender sentimentos a quatro centavos.
Logo que descobriram que Ana e Roberto Blaum eram um casal de anciãos comovedores, que tinham estado juntos tanto tempo e que conservavam intacta a fortaleza do corpo, as faculdades da mente e a qualidade do amor fizeram deles exemplos vivos. Além dos cientistas que analisaram o livro até à exaustão, os únicos que o leram sem propósitos sensacionalistas foram os doentes de cancro, mas no entanto para eles a esperança de uma cura definitiva tornou-se uma burla atroz, porque na verdade ninguém podia indicar-lhes onde encontrar o amor, como obtê-lo e muito menos a forma de o conservar. Mesmo que a ideia de Blaum não tivesse lógica, resultava inaplicável na prática.
Roberto estava consternado com o tamanho do escândalo, mas Ana recordou-lhe o acontecido antes e convenceu-o de que era questão de se sentar e esperar um pouco, porque a barulheira não demoraria muito. Assim aconteceu. Os Blaum não estavam na cidade quando o clamor diminuiu. Roberto tinha-se retirado do seu trabalho no hospital e da Universidade, com o pretexto de que estava cansado e que já tinha idade para fazer uma vida mais tranquila. Mas não conseguiu manter-se alheio à sua própria celebridade, a sua casa era invadida por doentes suplicantes, jornalistas, estudantes, professores e curiosos que chegavam a toda a hora. Disse-me que precisava de silêncio, porque pensava escrever outro livro e eu ajudei-o a procurar um lugar afastado onde pudesse refugiar-se.
Encontrámos uma vivenda na Colónia, uma estranha aldeia encravada num monte tropical, réplica de algum vilarejo bávaro do século xix, um desvario arquitectónico de casas de madeira pintada, relógios de cuco, vasos de gerânios e placas com letras góticas, habitada por uma raça de gente ruiva com os mesmos trajes tiroleses e faces rubicundas que os seus bisavós trouxeram ao emigrar da Floresta Negra. Embora já então a Colónia fosse a atracção turística que é hoje, Roberto pôde alugar uma propriedade afastada onde não chegava o tráfego dos fins de semana. Pediram-me que tratasse dos seus assuntos na capital, eu recebia o dinheiro da sua aposentação, as contas e o correio. A princípio visitei-os com frequência, mas logo me dei conta que na minha presença mantinham uma cordialidade algo forçada, muito diferente das boas-vindas calorosas que antes me prodigalizavam. Não pensei que se tratasse de qualquer coisa contra mim, nem mais ou menos, sempre contei com a sua confiança e estima, simplesmente concluí que desejavam estar sozinhos, por isso preferi comunicar com eles por telefone e carta.
Quando Roberto Blaum me chamou pela última vez, há um ano que não os via. Falava muito pouco com ele, porque mantinha largas conversações com Ana. Eu dava-lhe notícias do mundo e ela contava-me coisas do seu passado, que parecia tornar-se cada vez mais vívido para ela, como se todas as recordações de antigamente fizessem parte do seu presente no silêncio que agora a rodeava. às vezes fazia-me chegar, pelos meios mais diversos, biscoitos de aveia que cozinhava para mim e bolsinhas de alfazema para perfumar os armários. Nos últimos meses enviava-me também delicados presentes: um lenço que o marido lhe dera muitos anos atrás, fotografias da sua juventude, um alfinete antigo. Suponho que isso, mais o desejo de me manter à distância e o facto de Roberto evitar falar do livro em preparação, foram para mim a explicação, mas na verdade não imaginei o que estava a suceder naquela casa das montanhas. Mais tarde, quando li o diário de Ana, vim a saber que Roberto não escrevera nem uma linha. Durante todo aquele tempo dedicara-se por inteiro a amar a sua mulher, mas isso não conseguiu desviar o curso dos acontecimentos.
Nos fins de semana a viagem para a Colónia torna-se uma peregrinação de carros com os motores a ferver que avançam lentamente, mas durante os outros dias, sobretudo no tempo das chuvas, é um passeio solitário por uma estrada de curvas fechadas que corta o cimo dos cerros, entre abismos inesperados e bosques de canas e palmeiras. Naquela tarde havia nuvens enroladas entre as colinas e a paisagem parecia de algodão. A chuva tinha calado os pássaros e não se ouvia mais que o barulho de água contra os vidros. à medida que subia, o ar refrescou e senti que a tormenta estava suspensa na neblina, como um clima de outra latitude. Imediatamente, numa volta do caminho apareceu aquele vilarejo de aspecto alemão, com os seus tectos inclinados para suportar a neve que nunca iria cair. Para chegar onde os Blaum viviam, tinha de se atravessar toda a povoação, que àquela hora parecia deserta. A cabana deles era semelhante a todas as outras, de madeira escura, beirados esculpidos e janelas com cortinas de renda, na frente um jardim florido, bem cuidado, e atrás estendia-se uma pequena horta de morangos. Corria um vento frio que silvava por entre as árvores, mas não vi fumo na chaminé. O cão, que os tinha acompanhado durante anos, levantou a cabeça e olhou-me sem mexer o rabo, como se não me reconhecesse, mas seguiu-me quando abri a porta, que estava sem chave, e passei a soleira. Estava escuro. Tacteei a parede procurando o interruptor e acendi as luzes. Estava tudo em ordem, havia ramos frescos de eucalipto nos jarrões, que enchiam o ar de um cheiro limpo. Atravessei a sala daquela vivenda de aluguer, onde nada denunciava a presença dos Blaum, salvo as pilhas de livros e o violino, e achei estranho que os meus amigos, em ano e meio, não tivessem implantado as suas personalidades no lugar onde viviam.
Subi a escada até ao último andar, onde estava o quarto principal, uma divisão ampla, com tectos altos de vigas rústicas, papel desbotado nas paredes e móveis ordinários de vago estilo provençal. Um castiçal de madeira iluminava a cama, sobre a qual jazia Ana, com o vestido de seda azul e o colar de corais que tantas vezes a vi usar. Tinha na morte a mesma expressão de inocência com que aparece na fotografia do seu casamento, tirada há muito tempo, quando o capitão do barco a casou com Roberto a setenta milhas da costa, naquela tarde magnífica em que os peixes-voadores saíram do mar para anunciar aos refugiados que a Terra Prometida estava próxima.
O cão que me havia seguido encolheu-se num canto ganindo suavemente.
Sobre a mesa de cabeceira, junto de um bordado inacabado e do diário da vida de Ana, encontrei uma nota de Roberto dirigida a mim, na qual me pedia que tomasse conta do cão e que os enterrasse no mesmo caixão no cemitério daquela aldeia de contos. Tinham decidido morrer juntos, porque ela estava na última fase de um cancro e preferiam viajar para o outro lado de mãos dadas, como sempre tinham estado, para que, no instante fugaz em que o espírito se desprende, não corressem o risco de se perder em qualquer despenhadeiro do vasto universo.
Corri a casa à procura de Roberto. Encontrei-o num pequeno quarto atrás da cozinha, onde tinha o estúdio, sentado a uma secretária de madeira clara, com a cabeça entre as mãos, soluçando. Sobre a mesa estava a seringa com que injectara o veneno na mulher, carregada com a dose destinada a ele.
Acariciei-lhe a nuca, levantou os olhos e olhou-me longamente. Suponho que quis evitar a Ana os sofrimentos do fim e preparou a partida de ambos de modo que nada alterasse a serenidade daquele instante, limpou a casa, cortou ramos para os jarrões, vestiu e penteou a mulher e quando tudo estava arrumado deu-lhe a injecção. Consolando-a com a promessa que se reuniria a ela poucos minutos depois, deitou-se a seu lado e abraçou-a até ter a certeza de que já não vivia. Encheu de novo a seringa, levantou a manga da camisa e procurou a veia, mas as coisas não resultaram como as tinha planeado. Então chamou-me.
- Não posso fazê-lo, Eva. Só a ti posso pedi-lo... Por favor, ajuda-me a morrer.
20 - Um milagre discreto
A família Boulton provinha de um comerciante de Liverpul, que emigrara em meados do século XIX com a sua tremenda ambição como única fortuna, e se tornou rico com uma frota de barcos de carga no país mais austral e afastado do mundo. Os Boulton eram membros proeminentes da colónia britânica e, como tantos ingleses fora da sua ilha, preservaram as suas tradições e a sua língua com uma tenacidade absurda, até que a mistura com sangue crioulo lhes baixou a arrogância e lhes mudou os nomes anglo-saxões para outros mais castiços.
Gilberto, Filomena e Miguel nasceram no apogeu da fortuna dos Boulton, mas durante as suas vidas viram o tráfego marítimo declinar e esfumar-se uma parte substancial das suas receitas. Mas embora deixassem de ser ricos, puderam manter o seu estilo de vida. Era difícil encontrar três pessoas de aspecto e carácter mais diferente do que estes três irmãos. Na velhice acentuaram-se os traços de cada um, mas apesar das suas aparentes disparidades as suas almas coincidiam no fundamental.
Gilberto era um poeta de setenta e tantos anos, de feições delicadas e porte de bailarino, cuja existência decorrera sem necessidades materiais, entre livros de arte e antiguidades. Era o único dos irmãos educado em Inglaterra, experiência que o marcou profundamente. Ficou-lhe para sempre o vício do chá. Nunca se casou, em parte porque não encontrou a tempo a jovem pálida que tantas vezes surgia nos seus versos de juventude, e quando renunciou a essa ilusão era já demasiado tarde, porque os hábitos de solteirão estavam muito arreigados. Gozava com os seus olhos azuis, o seu cabelo amarelo e a sua ancestralidade, dizendo que quase todos os Boulton eram uns comerciantes vulgares, que de tanto se fingirem aristocratas tinham acabado convencidos de que o eram. No entanto, usava casacos de tweed com cotoveleiras de couro, jogava brídege, lia o Times com três semanas de atraso e cultivava a ironia e a fleuma atribuídas aos intelectuais britânicos.
Filomena, rotunda e simples como uma camponesa, era viúva e avó de vários netos. Era dotada de grande tolerância, que lhe permitia aceitar tanto as veleidades anglófilas de Gilberto como o facto de Miguel andar com buracos nos sapatos e o colarinho da camisa em fiapos. Nunca lhe faltava ânimo para atender os achaques de Gilberto ou escutá-lo a recitar os seus estranhos versos, nem para colaborar nos inumeráveis projectos de Miguel. Tricotava incansavelmente coletes para o irmão mais novo, que este vestia uma ou duas vezes e logo dava a outro mais necessitado. As agulhas eram um prolongamento das suas mãos, moviam-se com um ritmo travesso num tiquetaque contínuo que anunciava a sua presença e a acompanhava sempre com o aroma da sua colónia de jasmim.
Miguel Boulton era sacerdote. Ao contrário dos irmãos, saiu moreno, de baixa estatura, quase inteiramente coberto por um velo negro que lhe teria dado um aspecto bestial se o seu rosto não tivesse sido tão bondoso. Abandonou as vantagens da residência familiar aos dezassete anos e só regressava a ela para participar nos almoços de domingo com os parentes, e para que Filomena o tratasse nas raras ocasiões em que adoecia com gravidade. Não sentia nem a mais pequena nostalgia pelas comodidades da sua juventude e, apesar dos arrebatamentos de mau humor, considerava-se um homem com sorte, contente com a sua existência. Vivia junto da lixeira municipal, numa povoação miserável fora dos muros da capital, onde as ruas não tinham pavimento, nem passeios nem árvores. A sua casa fora construída com tábuas e folhas de zinco. às vezes, no Verão, surgiam do chão fumaradas fétidas dos gases que se filtravam por debaixo da terra desde os depósitos de lixo. O mobiliário consistia num catre, uma mesa, duas cadeiras e estantes para livros e nas paredes cartazes revolucionários, cruzes de latão fabricadas pelos presos políticos, modestas tapeçarias bordadas pelas mães dos desaparecidos e galhardetes da sua equipa de futebol favorita. junto do Crucifixo, onde todas as manhãs comungava sozinho e todas as noites agradecia a Deus a sorte de ainda estar vivo, pendurava uma bandeira vermelha. O padre Miguel era um desses seres marcados pela terrível paixão da justiça. Na sua longa vida tinha acumulado tanto sofrimento alheio, que era incapaz de pensar na sua própria dor, que somada à certeza de actuar em nome de Deus o tornava temerário. Cada vez que os militares lhe vasculhavam a casa e o levavam, acusando-o de subversivo, tinham de o amordaçar, porque nem à cacetada conseguiam evitar que ele os cobrisse de insultos misturados com citações dos Evangelhos. Tinha sido preso tão amiúde, feito tantas greves de fome de solidariedade com os presos e amparado tantos perseguidos, que de acordo com a lei das probabilidades devia ter morrido várias vezes. A sua fotografia, sentado em frente de uma prisão da polícia política com um letreiro dizendo que ali torturavam gente, foi difundida por todo o mundo. Não havia castigo capaz de acobardá-lo, mas não se atreveram a fazê-lo desaparecer, como a tantos outros, porque já era demasiado conhecido. à noite, quando se sentava à frente do seu pequeno altar doméstico a conversar com Deus, perguntava a si mesmo se os seus únicos impulsos seriam o amor ao próximo e a ânsia de justiça, ou se nas suas acções não haveria também uma soberba satânica.
Aquele homem, capaz de adormecer uma criança com boleros e passar noites em claro a tratar de enfermos, não confiava na gentileza do seu próprio coração. Tinha lutado toda a vida contra a cólera, que lhe engrossava o sangue e o fazia explodir em arranques imparáveis. Em segredo perguntava a si próprio que seria dele se as circunstâncias não lhe oferecessem tão bons pretextos para desabafar. Filomena vivia dependente dele, mas Gilberto achava que se nada de grave lhe tinha acontecido em quase setenta anos a equilibrar-se na corda bamba, não havia razão para se preocupar, porque o anjo da guarda do irmão tinha demonstrado ser muito eficiente.
- Os anjos não existem. São erros semânticos - argumentava Miguel.
- Não sejas herege, homem!
- Eram simples mensageiros até que São Tomás de Aquino inventou toda essa patranha.
- Vais dizer-me que a pluma do Arcanjo São Gabriel, que se venera em Roma, provém do rabo de um abutre? - ria-se Gilberto.
- Se não acreditas nos anjos não acreditas em nada. Porque continuas a ser padre? Devias mudar de ofício - intervinha Filomena.
- Já se perderam vários séculos a discutir quantas criaturas dessas cabem na cabeça de um alfinete. Que mais dá? Não gastem energias com anjos, ajudem é as pessoas!
Miguel tinha perdido a vista aos poucos e estava quase cego. Do olho direito não via praticamente nada e do esquerdo bastante pouco, não podia ler e era-lhe muito difícil sair do seu bairro, porque se perdia nas ruas. Cada vez dependia mais de Filomena para se deslocar. Ela acompanhava-o ou mandava-lhe o automóvel com o motorista, Sebastián Canuto, aliás o Facas, um ex-convicto que Miguel arrancara do cárcere e regenerara, e que trabalhava com a família desde há cerca de vinte anos. Com a turbulência política dos últimos anos, o Facas tornou-se no discreto guarda-costas do padre. Quando corria o boato de uma marcha de protesto, Filomena dava-lhe o dia de folga e ele partia para a povoação de Miguel, armado de uma moca e um par de luvas de boxe escondidas no bolso. Ficava na rua à espera que o sacerdote saísse e imediatamente o seguia a certa distância, pronto para o defender da pancada ou para o arrastar para um lugar seguro se a situação o exigisse. A nebulosa em que vivia Miguel impedia-o de dar muita conta destas manobras de salvamento, que o teriam enfurecido, porque consideraria injusto dispor de tal protecção enquanto o resto dos manifestantes suportava as pancadas, os jactos de água e os gases.
Ao aproximar-se a data em que Miguei fazia setenta anos o seu olho esquerdo sofreu um derrame e em poucos minutos ficou na mais completa escuridão. Encontrava-se na igreja numa reunião noturna, com os moradores falando na necessidade de se organizarem para enfrentar a lixeira municipal, porque já não se podia continuar a viver entre tanta mosca e tanto cheiro a podridão. Muitos vizinhos estavam no bando oposto da religião católica, na verdade para eles não havia provas da existência de Deus, pelo contrário, os padecimentos das suas vidas eram uma demonstração irrefutável de que o universo era uma pura contradição, mas também eles consideravam o local da paróquia como o centro natural da povoação. A cruz que Miguel levava pendurada ao peito parecia-lhes apenas um inconveniente menor, uma espécie de extravagância de velho. O sacerdote passeava enquanto falava, como era seu costume, quando sentiu que as fontes e o coração disparavam a galope, e todo o corpo se lhe humedecia num suor pegajoso. Atribuiu isso ao calor da discussão, passou a manga pela testa e por um instante fechou os olhos.
Ao abri-los julgou estar afundado num torvelinho no fundo do mar, só percebia marulhos profundos, manchas, negro sobre negro. Esticou um braço em busca de apoio.
- Faltou a luz - disse, pensando noutra sabotagem. Os seus amigos rodearam-no assustados. O padre Boulton era um companheiro formidável, que tinha vivido entre eles desde que se conheciam. Até então julgaram-no invencível, um homenzarrão forte e musculoso, com um vozeirão de sargento e mãos de pedreiro que se juntavam na prece, mas que na verdade pareciam feitas para a luta. Logo compreenderam como estava gasto, viram-no encolhido e pequeno, um menino cheio de rugas. Um grupo de mulheres improvisou os primeiros remédios, obrigaram-no a estender-se no chão, puseram-lhe panos molhados na cabeça, deram-lhe a beber vinho quente, fizeram-lhe massagens nos pés: mas nada surtiu efeito, pelo contrário, com tanta manipulação o enfermo estava a ficar sem respiração. Por fim, Miguel conseguiu tirar as pessoas de cima de si e pôs-se de pé, disposto a enfrentar a nova desgraça cara a cara.
- Estou em dificuldades - disse sem perder a cabeça. - Por favor chamem a minha irmã e digam-lhe que estou em apuros, mas não lhe deem pormenores para não se preocupar.
Apareceu Sebastián Canuto, insociável e silencioso como sempre, dizendo que a senhora Filomena não podia perder o capítulo da telenovela e que lhe mandava algum dinheiro e um cesto de provisões para a sua gente.
Desta vez não se trata disso, Facas, parece que fiquei cego.
O homem subiu-o para o automóvel e sem fazer perguntas levou-o através de toda a cidade até à mansão dos Boulton, que se erguia cheia de elegância no meio de um parque um pouco abandonado, mas ainda senhorial. Chamou todos os habitantes da casa com buzinadelas, ajudou a descer o doente e transportou-o quase em andas, comovido por vê-lo tão leve e tão dócil. A sua rude cara de perdulário estava molhada de lágrimas quando deu a notícia a Gilberto e Filomena.
- Puta que me pariu, Dom Miguelito ficou sem olhos! Era só isto que me faltava! - chorou o motorista sem poder conter-se.
- Não digas palavrões em frente do poeta - disse o sacerdote.
- Põe-no na cama, Facas - ordenou Filomena. - Isso não é grave, deve ser algum resfriado. Estás assim por andar sem colete! - O tempo parou - noite e dia é sempre Inverno - e há um puro silêncio - de antenas pelo negrume... começou Gilberto a improvisar.
- Diz à cozinheira que prepare uma canja - disse a irmã para o calar.
O médico da família determinou que não se tratava de um resfriamento e recomendou que Miguel fosse visto por um oftalmologista. No dia seguinte, depois de uma apaixonada exposição sobre a saúde, o dom de Deus e o direito do povo, que o infame sistema vigente transformara em privilégio de uma casta, o doente aceitou ir a um especialista. Sebastián Canuto levou os três irmãos ao Hospital da Area Sul, único sítio aprovado por Miguel, porque era ali que atendiam os mais pobres dos pobres. Aquela súbita cegueira tinha posto o padre de péssima disposição, não podia compreender o desígnio divino que fazia dele um inválido justamente quando eram mais necessários os seus serviços. Nem se lembrou da resignação cristã. Desde o começo negou-se a aceitar que o guiassem ou amparassem, preferia avançar aos tropeções mesmo com riscos de partir um osso, não tanto por orgulho mas para se acostumar o mais depressa possível a essa nova limitação. Filomena deu discretas informações ao motorista para que desviasse o caminho e os levasse à Clínica Alemã, mas seu irmão, que conhecia demasiado bem o cheiro da miséria, teve as suas suspeitas mal entraram no edifício e confirmou-as quando ouviu música no ascensor. Tiveram de o tirar dali a toda a velocidade, antes que armasse uma briga. No hospital esperaram durante quatro horas, tempo que Miguel aproveitou para perguntar pelas desgraças dos outros doentes da sala, Filomena para começar outro colete e Gilberto para compor o poema sobre as antenas pelo negrume que tinha surgido no seu coração no dia anterior.
- O olho direito não tem remédio e para voltar a dar alguma coisa de vista ao esquerdo teríamos de o operar de novo - disse o médico que, por fim, os atendeu. - já fez três operações e os tecidos estão muito debilitados, isto requer técnicas e instrumentos especiais. Creio que o único sítio onde podem tentar fazer isso é no Hospital Militar..
- Nunca! - interrompeu-o Miguel. - Nunca porei os pés nesse antro de desalmados! Assustado, o médico fez uma careta de desculpa à enfermeira, que retribuiu com um sorriso cúmplice.
- Não sejas chato, Miguel. Será apenas por um ou dois dias, não penso que isso seja uma traição aos teus princípios.
Ninguém vai para o Inferno por isso! - disse Filomena, mas o seu irmão argumentou que preferia ficar cego para o resto dos seus dias a dar aos militares o gosto de lhe devolver a vista. à porta o médico agarrou-o um instante pelo braço.
- Olhe, padre... já ouviu falar na Clínica da Opus Dei? Ali também têm recursos muito modernos.
- Opus Dei! - exclamou o padre -. Disse Opus Dei?
Filomena tratou de o levar para fora do consultório, mas ele atravessou-se no umbral para informar o médico de que também nunca iria pedir um favor a essa gente.
- Mas como... não são católicos?
- São fariseus reaccionários.
- Desculpe - balbuciou o médico.
Mal entrou no carro Miguel disse aos irmãos e ao motorista que a Opus Dei era uma organização sinistra, mais ocupada em tranquilizar a consciência das classes altas de que em alimentar os que morrem de fome, e que mais facilmente entra um camelo pelo olho de uma agulha que um rico no reino dos céus, ou qualquer coisa deste estilo. Acrescentou que o sucedido era mais uma prova de como no país as coisas estavam mal, onde só os privilegiados se podiam curar com dignidade e os restantes se tinham de conformar com ervas de misericórdia e cataplasmas de humilhação. Por fim pediu que o levassem diretamente para casa porque tinha de regar os gerânios e preparar o sermão de domingo.
- Estou de acordo - comentou Gilberto, deprimido pelas horas de espera e pela visão de tanta desgraça e tanta porcaria no hospital. Não estava acostumado a essas diligências.
- De acordo com quê?
- Que não podemos ir ao Hospital Militar, seria um acto criminoso. Mas poderíamos dar oportunidade à Opus Dei, não lhes parece?
- Mas de que é que estás a falar? - perguntou o irmão. - já te disse o que penso deles.
- Qualquer um diria que não tínhamos dinheiro para pagar! - acrescentou Filomena quase a perder a paciência.
- Não se perde nada em perguntar - sugeriu Gilberto, passando o seu lenço perfumado pelo pescoço.
- Essa gente está tão ocupada a mover fortunas nos bancos e a bordar casulas de padre com fios de ouro, que não tem vontade de ver as necessidades dos outros. O céu não se ganha em genuflexões, mas com...
- Mas o senhor não é pobre, Dom Miguelito - interrompeu Sebastián Canuto, agarrado ao volante.
- Não me insultes, Facas. Sou tão pobre como tu. Dá meia volta e leva-nos a essa clínica, para provar ao poeta que anda na lua, como sempre.
Foram recebidos por uma senhora amável, que os fez preencher um formulário e lhes ofereceu café. Quinze minutos depois passavam os três para o consultório.
- Antes de mais nada, doutor, quero saber se o senhor também é da Opus Dei ou se apenas trabalha aqui - disse o sacerdote.
- Pertenço à Obra - sorriu suavemente o médico.
- Quanto custa a consulta? - O tom do padre não dissimulava o sarcasmo.
- Tem problemas financeiros, padre?
- Diga-me quanto.
- Nada, se não puder pagar. Os donativos são voluntários.
Por um breve instante o padre Boulton perdeu o aprumo, mas a reacção não lhe durou muito.
- Isto não parece uma obra de beneficência.
- É uma clínica privada.
- É isso... Aqui vêm só os que podem fazer donativos.
- Olhe, padre, se não gosta sugiro que se vá embora - respondeu o médico. - Mas não irá sem que eu o examine. Se quiser traga-me os seus protegidos, que aqui os atenderemos o melhor possível, para isso pagam os que têm de seu. E agora não se mexa e abra os olhos.
Depois de uma meticulosa revisão, o médico confirmou o diagnóstico prévio, mas não se mostrou optimista.
- Aqui contamos com uma equipa excelente, mas trata-se de uma operação muito delicada. Não posso enganá-lo, padre, apenas um milagre lhe pode devolver a vista - concluiu.
Miguel estava tão deprimido que mal o ouviu, mas Filomena agarrou-se a uma esperança.
- Um milagre, foi o que disse?
- Bom, é uma maneira de falar, minha senhora. A verdade é que ninguém pode garantir que volte a ver.
- Se o que o senhor quer é um milagre, eu sei onde pode consegui-lo - disse Filomena, metendo o tecido na sua bolsa. - Muito obrigado, doutor. Vá preparando tudo para a operação, logo estaremos de volta.
De novo no carro, com Miguel mudo pela primeira vez em muito tempo e Gilberto extenuado pelos sobressaltos do dia, Filomena deu ordens a Sebastián Canuto que enfiasse para a montanha. O homem deu uma olhadela de soslaio e sorriu entusiasmado. Tinha conduzido de outras vezes a sua patroa por aqueles caminhos e nunca o fazia de bom grado, porque a estrada era uma serpente retorcida, mas desta vez animava-o a ideia de ajudar o homem que mais apreciava neste mundo.
- Onde vamos agora? - murmurou Gilberto, deitando mão à sua educação britânica para não cair de cansaço.
- É melhor dormires, a viagem é longa. Vamos à gruta de Juana dos Lírios - explicou-lhe a irmã.
- Deves estar louca! - exclamou o padre surpreendido.
- É santa.
- Isso são puros disparates. A Igreja não se pronunciou sobre ela.
- O Vaticano demora cem anos a reconhecer um santo. Não podemos esperar tanto - concluiu Filomena.
- Se Miguel não acredita em anjos, menos acreditará em beatas crioulas, sobretudo se essa Juana provém de uma família de terratenentes - suspirou Gilberto.
- Isso não tem nada que ver, ela viveu na pobreza. Não metas ideias na cabeça de Miguel - disse Filomena.
- Se não fosse porque a sua família está disposta a gastar uma fortuna para ter um santo próprio, ninguém saberia da sua existência - interrompeu o padre.
- É mais milagrosa do que qualquer dos teus santos estrangeiros.
- De qualquer modo, parece-me muita petulância esta coisa de pedir um tratamento especial. Seja como for, eu não sou ninguém e não tenho o direito de mobilizar o céu com pedidos pessoais - resmungou o cego.
O prestígio de Juana havia começado depois da sua morte numa idade prematura, porque os camponeses da região, impressionados pela sua vida piedosa e pelas suas obras de caridade, rezavam pedindo-lhe os seus favores. Logo correu o boato de que a defunta era capaz de realizar prodígios e o assunto foi subindo de tom até culminar no Milagre do Explorador, como lhe chamaram. O homem esteve perdido na cordilheira durante duas semanas, e quando as equipas de salvação já tinham abandonado as buscas e estavam prestes a dá-lo como morto, apareceu cansado e faminto, mas intacto. Nas suas declarações à imprensa contou que num sonho vira a imagem de uma rapariga vestida com uma túnica e um ramo de flores nos braços. Ao despertar sentiu um forte aroma de lírios e soube, sem ter qualquer dúvida, que se tratava de uma mensagem celestial. Seguindo o penetrante perfume das flores conseguiu sair daquele labirinto de desfiladeiros e abismos e, por fim, chegar às proximidades de um caminho. Ao comparar a sua visão com um retrato de Juana, verificou que eram idênticos. A família da jovem encarregou-se de divulgar a história, de construir uma gruta no sítio onde apareceu ao explorador e de mobilizar todos os recursos ao seu alcance para levar o caso ao Vaticano. Até esse momento, no entanto, não havia resposta dos jurados cardinalícios. A Santa Sé não acreditava em resoluções precipitadas, vivia muitos séculos de parcimonioso exercício e esperava dispor de muitos mais de futuro, de modo que não tinha pressa para nada. Recebia numerosos testemunhos provenientes do continente sul-americano onde por tudo e por nada apareciam profetas, santinhos, predicadores, estilitas, mártires, virgens, anacoretas e outras personagens que as pessoas veneravam, mas não coisa de entusiasmar-se com cada um.
Pedia-se grande cautela nestes assuntos, porque qualquer escorregadela podia levar ao ridículo, sobretudo naqueles tempos de pragmatismo, quando a incredulidade prevalecia sobre a fé. No entanto, os devotos de Juana não aguardaram o veredicto de Roma para a tratarem como santa.
Vendiam-se estampas e medalhas com o seu retrato, e todos os dias se publicavam anúncios nos jornais agradecendo-lhe alguns favores concedidos. Plantaram tantos lírios na gruta que o cheiro atordoava os peregrinos e tornava estéreis os animais domésticos dos arredores. As lanternas de azeite, os círios e as tochas encheram o ar de uma fumarada rebelde e o eco dos cânticos e as orações ecoavam por entre os cerros, atrapalhando os condores no seu voo. Em pouco tempo o lugar encheu-se de placas comemorativas, toda a espécie de aparelhos e réplicas de órgãos humanos em miniatura, que os crentes deixavam como prova de alguma cura sobrenatural. Mediante uma colecta pública juntou-se dinheiro para pavimentar a estrada e em dois ou três anos havia um caminho cheio de curvas, mas transitável, que ligava a capital à capela.
Os irmãos Boulton chegaram ao destino ao cair da noite.
Sebastián Canuto ajudou os três velhos a percorrer o carreiro até à gruta. Apesar da hora tardia, não faltavam devotos, uns arrastavam-se de joelhos sobre as pedras, seguros por algum parente solícito, outros rezavam em voz alta ou acendiam velas em frente de uma estátua de gesso da beata. Filomena e o Facas ajoelharam-se para fazer o seu pedido. Gilberto sentou-se num banco a pensar nas voltas que a vida dá, e Miguel ficou de pé, resmungando que se o problema era solicitar milagres porque não pediam antes que caísse o tirano e voltasse a democracia de uma vez por todas.
Poucos dias depois, os médicos da clínica da Opus Dei operaram-lhe o olho esquerdo gratuitamente depois de advertir os irmãos que não deviam alimentar demasiadas ilusões. O sacerdote pediu a Filomena e a Gilberto que não fizessem o mais pequeno comentário sobre Juana dos Lírios, bem bastava ele ser socorrido pelos rivais ideológicos. Logo que lhe deram alta, Filomena levou-o para casa, fazendo caso omisso dos seus protestos. Miguel mostrava um enorme penso cobrindo-lhe metade da cara. Estava debilitado por todo aquele assunto, mas a sua vocação de modéstia permanecia intacta. Declarou que não desejava ser atendido por mãos mercenárias, de modo que tiveram de despedir a enfermeira contratada para a ocasião.
Filomena e o fiel Sebastián Canuto encarregaram-se de tomar conta dele. Tarefa nada fácil, porque o doente estava de péssimo humor, não suportava a cama e não queria comer.
A presença do sacerdote alterou completamente os trabalhos da casa. As rádios da oposição e a voz de Moscovo em onda curta atroavam os ares a toda a hora e havia um desfile perpétuo de tristes habitantes do bairro de Miguel, que vinham para visitar o doente. O seu quarto encheu-se de humildes presentes: desenhos dos meninos da escola, bolinhos, matagais de ervas e flores criadas em latas de conserva, uma galinha para a sopa e até um cachorro de dois meses, que mijava nos tapetes persas e roía as pernas dos móveis, que alguém levara com a ideia de o treinar como cão de cego. No entanto, a convalescença foi rápida e, cinquenta horas depois da operação, Filomena chamou o médico para lhe comunicar que o seu irmão via bastante bem.
- Mas eu não lhe disse para não mexer no penso?! - exclamou o médico.
- Ele tem ainda o penso. Agora vê pelo outro olho - explicou a senhora.
- Qual outro olho?
- O do lado, claro, doutor, o que estava morto.
- Não pode ser. Vou para aí. Não lhe mexam seja por que motivo for - ordenou o cirurgião.
No casarão dos Boulton encontrou o doente a comer papas fritas, olhando a telenovela com o cão nos joelhos. Incrédulo, verificou que o sacerdote via sem dificuldade pelo olho que estivera cego oito anos e ao tirar o penso foi evidente que via também pelo olho operado.
O padre Miguel comemorou os seus setenta anos na paróquia do seu bairro. A irmã Filomena e as suas amigas formaram uma caravana de carros atulhados de tortas, pastéis, sanduíches, cestos com fruta e jarros de chocolate, capitaneada pelo Facas, que levava litros de vinho e aguardente disfarçados em garrafas de orchata. O padre desenhou a sua vida em grandes papéis que pendurou nas paredes da igreja. Neles contava com um tom de ironia os altos e baixos da sua vocação desde o momento em que o escolhido por Deus o golpeou com uma paulada aos quinze anos e a sua luta contra os pecados mortais, primeiro os da gula e da luxúria, e mais tarde o da ira, até às suas aventuras recentes nos quartéis da Polícia, numa idade em que outros velhotes se embalavam numa cadeira de balanço contando estrelas. Tinha pendurado um retrato de Juana, coroado por uma grinalda de flores, junto das inevitáveis bandeiras vermelhas. A reunião começou com uma missa animada por quatro guitarras, a que assistiram todos os vizinhos.
Puseram altifalantes para que a multidão espalhada pela rua pudesse seguir a cerimônia.
Depois da bênção, algumas pessoas adiantaram-se para testemunhar um novo caso de abuso da autoridade, até que Filomena avançou a grandes passadas para dizer que bastava de lamúrias e que era altura de se divertirem. Saíram todos para o pátio, alguém pôs música e começou imediatamente o baile e a comezaina. As senhoras do bairro alto serviram as comidas, enquanto o Facas acendia fogos-de-artificio e o padre dançava um charleston, rodeado por todos os seus paroquianos e amigos, para demonstrar que não só podia ver como uma águia, mas ainda que além disso não havia quem o igualasse numa festança.
- Estas festas populares não têm nada de poesia - observou Gilberto depois do terceiro copo de falsa orchata, mas os seus ares de lorde inglês não conseguiram disfarçar que estava a divertir-se.
- Diz-nos, padre, conta-nos que milagre foi! - gritou alguém, e o resto do público uniu-se na prece.
O sacerdote fez calar a música, compôs a roupa, em desordem, ajeitou com as mãos os poucos cabelos que tinha na cabeça e com a voz quebrada pelo agradecimento referiu-se a Juana dos Lírios, que se não fosse a sua intervenção todos os artifícios da ciência e da técnica teriam resultado infrutíferos.
- Se pelo menos fosse uma beata proletária seria bem mais fácil ter confiança nela - disse um atrevido, e logo uma gargalhada geral rematou o comentário.
- Não me fodam com o milagre, olhem que a santa se chateia e fico outra vez cego! - rugiu o padre Miguel, indignado. - E agora ponham-se todos em fila, porque me vão assinar uma carta para o papa!
E assim, no meio de risadas e goles de vinho, todos os paroquianos assinaram o pedido de beatificação de Juana dos Lírios.
21 - Uma vingança
Ao meio-dia radioso em que coroaram Dulce Rosa Oreliano com os jasmins da Rainha do Carnaval, as mães das outras candidatas murmuraram que se tratava de um prêmio injusto, que o davam a ela porque era filha do senador Anselmo Orellano, o homem mais poderoso de toda a província. Admitiam que a rapariga era prendada, tocava piano e dançava como nenhuma outra, mas que havia outras candidatas àquele galardão e muito mais formosas. Viram-na de pé no estrado, com o vestido de organdi e a coroa de flores saudando a multidão e entre dentes amaldiçoaram-na. Por isso, algumas delas alegraram-se quando meses mais tarde o infortúnio entrou pela casa dos Orellano, semeando tal fatalidade, que foram precisos vinte e cinco anos para dar cabo dela.
Na noite da eleição da rainha houve baile na Alcaidaria de Santa Teresa e vieram jovens de povoações longínquas para conhecer Dulce Rosa. Ela estava tão alegre e dançava com tal ligeireza que muitos não perceberam que na realidade não era ela a mais bela e quando regressaram ao ponto de partida disseram que nunca tinham visto um rosto como o seu. Foi assim que adquiriu imerecida fama de formosura, que nenhum testemunho posterior pôde desmentir. A suavidade exagerada da sua pele translúcida e os seus olhos diáfanos passaram de boca em boca e cada um lhe acrescentou algo da sua própria fantasia. Os poetas de cidades afastadas compuseram sonetos para uma donzela hipotética chamada Dulce Rosa.
O boato dessa beleza que florescia na casa do senador Orellano chegou também aos ouvidos de Tadeo Céspedes, que nunca pensara conhecê-la, porque durante os anos da sua existência não tivera tempo para decorar versos nem olhar para mulheres. Ocupava-se só da guerra civil. Desde que começou a aparar o bigode tinha uma arma na mão e há muito que vivia no estardalhaço da pólvora. Tinha esquecido os beijos da mãe e até os cânticos da missa. Nem sempre teve razões para a luta, porque em alguns períodos de trégua não havia adversários ao alcance do seu bando. Nesses tempos de paz forçada viveu como um corsário. Era um homem habituado à violência. Atravessava o país em todas as direções lutando contra inimigos visíveis, quando os havia, e contra as sombras, quando as tinha de inventar, e assim teria continuado se o seu partido não ganhasse as eleições presidenciais. De um dia para o outro passou da clandestinidade à tomada do poder e acabaram-se-lhe os pretextos para continuar a inquietar-se.
A última missão de Tadeo Céspedes foi a expedição punitiva a Santa Teresa. Com cento e vinte homens entrou de noite na povoação para aplicar um castigo e eliminar os cabecilhas da oposição. Balearam as janelas dos edifícios públicos, escavacaram a porta da igreja e romperam a cavalo até ao altar-mor, esmagando o padre Clemente que se lhes atravessou na frente, e continuaram a galope com um estrépito de guerra em direção à vivenda do senador Orellano, que se erguia cheia de orgulho no alto da colina.
À cabeça de uma dúzia de servidores leais, o senador esperava Tadeo Céspedes, depois de fechar a filha no último quarto do pátio e soltar os cães. Nesse momento, lamentou, como em tantas outras vezes na sua vida, não ter descendentes varões que o ajudassem a pegar em armas e defender a honra de sua casa. Sentiu-se muito velho, mas não teve tempo de pensar nisso, porque viu nas encostas do monte o brilho terrível de cento e vinte tochas que se aproximavam espantando a noite.
Dividiu as últimas munições em silêncio. Tudo estava dito e cada um sabia que antes do amanhecer deveria morrer como um macho no seu posto de combate.
- O último pegará na chave do quarto onde está a minha filha e cumprirá o seu dever - disse o senador ao ouvir os primeiros tiros.
Todos aqueles homens haviam visto nascer Dulce Rosa, tinham-na tido ao colo antes de andar, contaram-lhe contos de fantasmas em tardes de Inverno, ouviram-na tocar piano e aplaudiram-na emocionados no dia da sua coroação como Rainha do Carnaval. O seu pai podia morrer tranquilo porque a menina nunca cairia viva nas mãos de Tadeo Céspedes. A única coisa em que o senador Orellano não pensou foi que apesar da sua bravura na batalha o último a morrer seria ele. Viu cair um a um os seus amigos e compreendeu, por fim, a inutilidade de continuar a resistir. Tinha uma bala no ventre e a vista toldada, mal distinguia as sombras que trepavam pelos altos muros da sua propriedade, mas não lhe faltou o entendimento para se arrastar até ao terceiro pátio. Os cães reconheceram o seu cheiro por cima do suor, do sangue e da tristeza que o cobriam e afastaram-se para o deixar passar. Introduziu a chave na fechadura, abriu a pesada porta e através da névoa dos seus olhos viu Dulce Rosa à espera dele. A menina tinha o mesmo vestido de organdi da festa de Carnaval e enfeitara o penteado com as flores da coroa.
- É a hora, filha - disse engatilhando a arma enquanto a seus pés crescia um charco de sangue.
- Não me mate, pai - respondeu ela com voz firme. - Deixe-me viva, para o vingar e para me vingar.
O senador Anselmo Orellano olhou para o rosto de quinze anos da sua filha e imaginou o que Tadeo Céspedes faria com ela, mas havia grande força nos olhos transparentes de Dulce Rosa e soube que poderia sobreviver para castigar o seu verdugo. A rapariga sentou-se na cama e ele tomou lugar a seu lado, apontando a porta. Quando se calou o ganir dos cães moribundos, a tranca cedeu, a fechadura saltou e os primeiros homens entraram pelo quarto, o senador ainda conseguiu fazer seis disparos antes de perder o conhecimento. Tadeo Céspedes julgou sonhar ao ver um anjo coroado de jasmins que sustinha nos braços um velho agonizante, enquanto o seu vestido branco se ensopava de vermelho, mas não teve piedade para um segundo olhar, porque vinha bêbado de violência e enervado por várias horas de combate.
- A mulher é para mim - disse, antes que os seus homens lhe pusessem as mãos em cima.
A sexta-feira amanheceu cor de chumbo, tingida pelo resplendor do incêndio. O silêncio era pesado na colina. Os últimos gemidos tinham-se calado quando Dulce Rosa conseguiu pôr-se de pé e caminhar até ao tanque do jardim que no dia anterior estava rodeado de magnólias e agora era apenas um charco tumultuoso no meio dos escombros.
Do vestido não restavam senão pedaços de organdi, que ela tirou lentamente até ficar nua. Mergulhou na água fria. O sol apareceu entre os vidoeiros e a rapariga viu a água tornar-se rosada ao lavar o sangue que lhe brotava entre as pernas e o de setf pal que se lhe tinha secado no cabelo. Uma vez limpa, serena e sem lágrimas, voltou para a casa em ruínas, procurou algo para se cobrir, pegou num lençol de serapilheira e foi recolher os restos do senador. Tinham-no atado pelos pés para o arrastar a galope pelas ladeiras da colina até fazer dele um mísero farrapo, mas guiada pelo amor, a filha pôde reconhecê-lo sem vacilar. Envolveu-o no pano e sentou-se a seu lado a ver nascer o dia. Foi assim que a encontraram os vizinhos de Santa Teresa, quando se atreveram a subir até à vivenda dos Orellano. Ajudaram Dulce Rosa a enterrar os seus mortos e a apagar os vestígios do incêndio e suplicaram-lhe que fosse viver com a madrinha para outra povoação, onde ninguém conhecesse a sua história, mas ela disse que não.
Então formaram grupos para reconstruir a casa e ofereceram-lhe seis cães ferozes para a defender.
A partir do instante em que o pai chegou ao quarto ainda vivo, e Tadeo Céspedes fechou a porta atrás de si e tirou o cinturão de couro, Dulce Rosa passou a viver para se vingar.
Nos anos que se seguiram, esse pensamento manteve-a dispersa durante a noite e ocupou-lhe os dias, mas não perdeu completamente o sorriso nem secou a sua boa vontade.
Aumentou a sua reputação de beleza, porque os cantores foram por todo o lado a apregoar os seus encantos imaginários, até a transformarem em lenda viva. Ela levantava-se todos os dias às quatro da madrugada para dirigir os trabalhos do campo e da casa, percorrer a propriedade a cavalo, comprar e vender regateando como um sírio, criar animais e cultivar as magnólias e os jasmins do seu jardim. Ao cair da tarde, tirava as calças, as botas e as armas e punha os seus primorosos vestidos, trazidos da capital em baús aromáticos. Ao anoitecer, começavam a chegar as visitas que a encontravam a tocar piano, enquanto as criadas preparavam as bandejas de pastéis e os copos de orchata. A princípio muitos perguntavam como era possível que a jovem não tivesse acabado numa camisa de forças no sanatório ou como noviça nas freiras Carmelitas, no entanto, como havia festas frequentes na vivenda dos Orellano, com o tempo as pessoas deixaram de falar na tragédia, apagando-se assim a recordação do senador assassinado. Alguns cavalheiros de renome e fortuna conseguiram ultrapassar o estigma da violação e, atraídos pelo prestígio da beleza e pela sensatez de Dulce Rosa, propuseram-lhe casamento. Ela recusou-se a todos, porque a sua missão neste mundo era a vingança.
Tadeo Céspedes também não pôde tirar da memória aquela noite aziaga. A ressaca da matança e a euforia da violação passaram-lhe em poucas horas quando ia a caminho da capital para prestar contas da sua expedição de castigo. Então, lembrou-se da menina com vestido de baile e coroada de jasmins, que o aguentou em silêncio naquele quarto escuro onde o ar estava impregnado de cheiro a pólvora. Tornou a vê-la no momento final, estendida no chão, mal coberta pelos seus farrapos avermelhados, afundada no sono compassivo da inconsciência e assim continuou a vê-la todas as noites na hora de dormir, durante o resto da sua vida. A paz, o exercício do governo e o uso do poder fizeram dele um homem repousado e trabalhador. Com o passar do tempo perderam-se as recordações da Guerra Civil e as pessoas começaram a chamar-lhe Dom Tadeo. Comprou uma fazenda do outro lado da serra, dedicou-se a administrar justiça e acabou alcaide. Se não fosse o fantasma incansável de Dulce Rosa Orellano, talvez tivesse alcançado certa felicidade, mas em todas as mulheres que se cruzaram no seu caminho, em todas as que abraçou ao longo dos anos, aparecia-lhe o rosto da Rainha do Carnaval. E para maior desgraça sua, as canções que traziam o seu nome em versos de poetas populares não lhe permitiam afastá-la do seu coração. A imagem da jovem cresceu dentro dele, ocupando-o inteiramente, até que um dia não aguentou mais. Estava à cabeceira de uma grande mesa de banquete celebrando os cinquenta e sete anos, rodeado de amigos e colaboradores, quando julgou ver sobre a toalha uma criança nua entre flores de jasmim e compreendeu que o pesadelo não o deixaria em paz nem depois de morto. Deu um murro que fez tremer a loiça e pediu o chapéu e o bastão.
- Aonde vai, Dom Tadeo? - perguntou o perfeito.
- A reparar um dano antigo - respondeu, saindo sem se despedir de ninguém.
Não teve necessidade de a procurar, porque sempre supôs que se encontrava na mesma casa da sua desdita e para lá conduziu o seu carro.
Por essa altura havia boas estradas e as distâncias pareciam mais curtas. A paisagem tinha mudado nesses anos, mas ao fazer a última curva da colina apareceu a vivenda tal como se lembrava dela antes do seu bando a tomar de assalto. Ali estavam as sólidas paredes de pedra do rio que ele destruíra com cargas de dinamite, as velhas traves de madeira escura a que tinham pegado fogo, as árvores onde pendurara os corpos dos homens do senador, o pátio onde massacrara os cães. Parou o carro a cem metros da casa e não se atreveu a continuar porque sentiu o coração explodir-lhe no peito. Ia a dar meia volta para regressar por onde tinha chegado, quando surgiu entre os roseirais uma figura envolta no halo das suas saias.
Fechou os olhos desejando com todas as suas forças que ela não o reconhecesse. Na luz suave das seis horas viu Dulce Rosa Orellano que avançava flutuando pelos carreiros do jardim. Notou-lhe os cabelos, o rosto claro, a harmonia dos gestos, o esvoaçar do vestido e julgou encontrar-se suspenso num sonho que durava há vinte e cinco anos.
- Finalmente, chegas, Tadeo Céspedes - disse ao avistá-lo sem se deixar enganar pelo seu traje negro de alcaide nem pelo seu cabelo cinzento de cavalheiro, porque ainda tinha as mesmas mãos de pirata.
- Perseguiste-me sem trégua. Não pude amar ninguém em toda a vida, apenas a ti - murmurou ele com voz quebrada pela vergonha.
Dulce Rosa Orellano suspirou. Tinha-o chamado com o pensamento dia e noite durante todo esse tempo e por fim estava ali. Chegara a hora. Mas olhou-o nos olhos e não descobriu neles nem rasto do verdugo, só lágrimas frescas.
Procurou no próprio coração o ódio cultivado ao longo da sua vida e não foi capaz de o encontrar. Evocou o momento em que pediu ao pai o sacrifício de a deixar com vida para cumprir um dever, reviveu o abraço tantas vezes maldito daquele homem e a madrugada em que envolveu uns despojos tristes num lençol de serapilheira. Reviu o plano perfeito da sua vingança e não sentiu a alegria esperada, mas, pelo contrário, uma profunda melancolia. Tadeo Céspedes pegou-lhe na mão com delicadeza e beijou-lhe a palma, molhando-a com o seu pranto. Então, ela compreendeu aterrada que de tanto pensar nele a cada momento, saboreando o castigo por antecipação, o sentimento lhe tinha dado uma volta, acabando por amá-lo.
Nos dias seguintes ambos levantaram as comportas do amor reprimido e pela primeira vez nos seus ásperos destinos abriram-se para receber a proximidade do outro. Passeavam pelos jardins falando de si mesmos, sem omitir a noite fatal que mudara o rumo das suas vidas. Ao fim da tarde ela tocava piano, ele fumava ouvindo-a até sentir os ossos moles e a felicidade a envolvê-lo como um manto, apagando os pesadelos do tempo passado. Depois de cear, Tadeo Céspedes partiu para Santa Teresa, onde já ninguém se recordava da velha história de horror. Hospedara-se no melhor hotel e dali organizava a boda, queria uma festa com ostentação, esbanjamento e barulho, na qual participasse todo o povo. Descobrira o amor numa idade em que os outros homens perdem a ilusão e isso devolvia-lhe a força da juventude. Desejava rodear Dulce Rosa de afeto e beleza, dar-lhe tudo o que o dinheiro pudesse comprar, para ver se conseguia compensar, nos seus anos de velho, o mal que lhe fizera em jovem. Em alguns momentos, o pânico invadiu-o.
Espiava o rosto dela em busca de sinais de rancor, mas só via a luz do amor partilhado e isso devolvia-lhe a confiança.
Assim passou um mês de felicidade. Dois dias antes do casamento, quando já estavam a armar as mesas da festa no jardim, a matar as aves e os porcos para a boda e a cortar as flores para decorar a casa, Dulce Rosa Orellano provou o vestido de noiva. Viu-se reflectida no espelho, tão parecida com a do dia da sua coroação como Rainha do Carnaval, que não pôde continuar a enganar o seu próprio coração. Soube que jamais poderia realizar a vingança planeada porque amava o assassino, mas também não podia calar o fantasma do senador, por isso despediu a costureira, pegou na tesoura e foi ao quarto do terceiro pátio que durante todo aquele tempo tinha estado desocupado.
Tadeo Céspedes procurou-a por todo o lado, chamando-a desesperadamente. O ladrar dos cães levaram-no até ao outro extremo da casa.
Com a ajuda dos jardineiros deitou abaixo a porta trancada e entrou no quarto onde uma vez tinha visto um anjo coroado de jasmins. Encontrou Dulce Rosa Orellano tal como a vira em sonhos em cada noite da sua existência, com o mesmo vestido de organdi ensanguentado, e adivinhou que viveria até aos noventa anos para pagar a sua culpa com a recordação da única mulher que o seu espírito podia amar.
22 - Cartas de amor atraiçoado
A mãe de Analía Torres morreu de uma febre delirante quando ela nasceu, o pai não suportou a tristeza e duas semanas mais tarde deu um tiro de pistola no peito. O irmão Eugênio administrou as terras da família e dispôs do destino da pequena órfã segundo o seu critério.
Até aos seis anos, Analía cresceu agarrada às saias de uma ama índia nos quartos de serviço da casa do seu tutor e depois, mal teve idade para ir à escola, mandaram-na para a capital, interna no Colégio das Irmãs do Sagrado Coração, onde passou os doze anos seguintes. Era boa aluna e amava a disciplina, a austeridade do edifício de pedra, a capela com a sua corte de santos e o seu aroma de cera e lírios, os corredores nus, os pátios sombrios. O que menos a atraía era o bulício das pupilas e o cheiro acre das salas de aula. Todas as vezes que tentava enganar a vigilância das freiras, escondia-se num canto, entre estátuas decapitadas e móveis partidos, para contar contos a si mesma.
Nesses momentos roubados, afundava-se no silêncio com a sensação de se abandonar a um pecado.
De seis em seis meses recebia uma curta carta do tio Eugênio recomendando-lhe que se portasse bem e honrasse a memória de seus pais, que tinham sido dois bons cristãos em vida e ficariam orgulhosos de que a sua única filha dedicasse a sua existência aos mais altos preceitos da virtude, quer dizer, entrasse como noviça para o convento. Mas Analía fez-lhe saber, desde a primeira insinuação, que não estava disposta a isso, mantendo a sua postura com firmeza simplesmente para o contradizer, porque no fundo gostava da vida religiosa.
Escondida sob o hábito, na solidão última da renúncia a qualquer prazer, talvez pudesse encontrar paz perdurável, pensava; no entanto o seu instinto advertia-a contra os conselhos do tutor. Suspeitava que as suas acções eram motivadas pela cobiça das terras, mais do que pela lealdade familiar. Nada vindo dele parecia digno de confiança, em qualquer canto estava a armadilha.
Quando Analía fez dezasseis anos, o tio foi visitá-la ao colégio pela primeira vez. A madre superiora chamou a rapariga ao escritório e teve de os apresentar porque ambos tinham mudado desde a época da ama índia dos pátios traseiros e não se reconheceram.
- Vejo que as Irmãzinhas têm cuidado de ti, Analía - comentou o tio, mexendo a chávena de chocolate. - Estás sã e até bonita. Na minha última carta disse-te que a partir da data deste aniversário receberás uma mesada para os teus gastos, tal como foi estipulado no testamento pelo meu irmão, que descanse em paz.
- Quanto?
- Cem pesos.
É tudo o que meus pais me deixaram?
- Não, claro que não. já sabes que a fazenda te pertence, mas a agricultura não é tarefa de mulher, sobretudo nos tempos de greves e revoluções. Por agora far-te-ei chegar uma mensalidade. Depois veremos.
- Veremos o quê, tio?
- Veremos o que mais te convém.
- Quais são as minhas alternativas?
- Precisarás sempre de um homem que administre o campo, menina. Eu fi-lo todos estes anos e não foi tarefa fácil, mas é a minha obrigação, prometi-o a meu irmão na sua última hora e estou disposto a continuar a fazê-lo por ti.
- Não deverá fazê-lo por muito mais tempo, tio. Quando me casar tomo conta das minhas terras.
- Quando se casar, foi o que a moça disse? Diga-ma, madre, ela tem algum pretendente?
- Não pense nisso, senhor Torres! Cuidamos muito das meninas. É só uma maneira de falar. Esta rapariga diz cada coisa!
Analía Torres pôs-se de pé, alisou as pregas do uniforme, fez uma leve reverência com uma careta, e saiu. A madre superiora serviu mais chocolate ao cavalheiro, comentando que a única explicação para aquele comportamento descortês era o pouco contacto que a jovem tivera com os seus familiares.
- Ela é a única aluna que nunca vai de férias e a quem nunca mandaram um presente de Natal - disse a freira num tom seco.
- Eu não sou homem de mimos, mas asseguro-lhe que estimo muito a minha sobrinha e tenho cuidado dos seus interesses como um pai. Mas a irmã tem razão, Analía necessitava de mais carinho, as mulheres são sentimentais.
Antes de passarem trinta dias, o tio apresentou-se de novo no colégio, mas nessa ocasião não pediu para ver a sobrinha, limitou-se a dizer à madre superiora que o seu próprio filho desejava manter correspondência com Analía e pedia-lhe que lhe fizesse chegar as cartas para ver se a camaradagem com o primo reforçava os laços de família.
As cartas começaram a chegar regularmente. Simples papel branco e tinta preta, uma escrita de traços grandes e precisos. Algumas falavam da vida no campo, das estações e dos animais, outras de poetas já mortos e dos pensamentos que eles escreveram. às vezes o sobrescrito incluía um livro ou um desenho feito com os mesmos traços firmes da caligrafia.
Analía resolveu não as ler, fiel à ideia de que qualquer coisa que tivesse a ver com o tio escondia perigo, mas no aborrecimento do colégio as cartas eram a sua única possibilidade de voar. Escondia-se no canto, não já para inventar contos improváveis, mas para reler com avidez as cartas enviadas pelo primo, até conhecer de memória as inclinações das letras e a textura do papel. A princípio não lhes respondia, mas ao fim de pouco tempo não pôde deixar de o fazer. O conteúdo das cartas foi-se tornando cada vez mais útil para enganar a censura da madre superiora, que abria toda a correspondência. Cresceu a intimidade entre os dois e depressa conseguiram pôr-se de acordo quanto a um código secreto com o qual começaram a falar de amor.
Analía Torres não se recordava de ter visto alguma vez esse primo que assinava Luis, porque quando ela vivia em casa do tio o rapaz estava internado num colégio da capital. Tinha a certeza de que devia ser um homem feio, talvez doente ou aleijado porque lhe parecia impossível que uma sensibilidade tão profunda e uma inteligência tão precisa desse origem a uma situação tão atraente. Tentava desenhar na sua mente uma imagem do primo: gordo como o pai, com a cara picada pelas bexigas, coxo e meio calvo; mas quantos mais defeitos lhe juntava mais começava a amá-lo. O brilho do seu espírito era a única coisa importante, a única que resistiria à passagem do tempo sem se deteriorar e que iria crescer com os anos, a beleza desses heróis utópicos dos contos não tinha qualquer valor e até podia tornar-se em motivo de frivolidade, concluía a rapariga, embora não pudesse evitar uma sombra de inquietação no seu raciocínio. Perguntava a si própria quanta deformidade seria capaz de tolerar.
A correspondência entre Analía e Luis Torres durou dois anos, ao fim dos quais a rapariga tinha uma caixa de chapéus cheia de sobrescritos e a alma definitivamente entregue. Se alguma vez lhe chegou a passar pela cabeça a ideia de que aquela relação poderia ser um plano do tio para que os bens que ela herdara do pai passassem para as mãos de Luis, pô-la de parte imediatamente, envergonhada da sua própria mesquinhez. No dia em que completou dezoito anos, a madre superiora chamou-a ao refeitório porque havia uma visita à sua espera. Analía Torres adivinhou quem podia ser e esteve quase a esconder-se no canto dos santos esquecidos, aterrada ante a eventualidade de enfrentar finalmente o homem que tinha imaginado durante tanto tempo. Quando entrou na sala e ficou em frente dele necessitou de vários minutos para vencer a desilusão.
Luis Torres não era o anão retorcido que ela tinha construído em sonhos e aprendera a amar. Era um homem bem apessoado, com um rosto simpático de traços regulares, a boca ainda infantil, uma barba escura e bem cuidada, olhos claros de longas pestanas, mas vazios de expressão. Parecia-se um pouco com os santos da capela, demasiado bonito e um pouco bobalhão. Analía refez-se do impacte e decidiu que, se tinha aceitado no seu coração um marreco, com maior razão podia querer a este jovem elegante que a beijava na face, deixando-lhe um rasto de lavanda no nariz.
Desde o primeiro dia de casada, Analía detestou Luis Torres.
Quando ele a estendeu entre os lençóis bordados de uma cama demasiado macia, soube que se tinha apaixonado por um fantasma e que nunca poderia passar essa paixão imaginária para a realidade do matrimónio. Combateu os seus sentimentos com determinação, a princípio afastando-os como um vício e depois, quando lhe foi impossível continuar a ignorá-los, fez por chegar ao fundo da alma para os arrancar de vez. Luis era gentil e até divertido por vezes, não a incomodava com exigências sem sentido nem quis modificar a sua tendência para a solidão e silêncio. Ela própria admitia que com um pouco de boa vontade da sua parte podia encontrar nessa relação certa felicidade, pelo menos tanta como tivera debaixo de um hábito de freira. Não tinha motivos precisos para essa estranha repulsa pelo homem que amara durante dois anos sem conhecer. Nem conseguia pôr em palavras as suas emoções, mas se o tivesse podido fazer não teria tido ninguém para o comentar.
Sentia-se enganada por não poder conciliar a imagem do pretendente epistolar com a daquele marido de carne e osso.
Luis nunca mencionava as cartas e quando ela tocava no assunto, ele fechava-lhe a boca com um beijo rápido e uma ou outra observação ligeira sobre esse romantismo tão pouco adequado à vida matrimonial, na qual a confiança, o respeito, os interesses comuns e o futuro da família importavam muito mais que uma correspondência de adolescentes. Não havia entre os dois uma verdadeira intimidade. Durante o dia cada um desempenhava os seus afazeres e à noite encontravam-se entre as almofadas de penas, onde Analía acostumada ao catre do colégio julgava sufocar. às vezes abraçavam-se à pressa, ela imóvel e tensa, ele com a atitude de quem cumpre uma exigência do corpo que não pode evitar. Luis adormecia imediatamente, ela ficava de olhos abertos no escuro e um protesto atravessava-lhe a garganta. Analía tentou diversos meios para vencer a recusa que ele lhe inspirava, desde o recurso do fixar de memória cada pormenor do marido com o propósito de o amar por pura determinação, até o de esvaziar a mente de todo o pensamento e mudar-se para uma dimensão onde ele não pudesse alcançá-la. Rezava para que fosse apenas uma repugnância passageira, mas passaram os meses e em vez do alívio esperado cresceu a animosidade até se transformar em ódio. Uma noite, surpreendeu-se a sonhar com um homem horrível que a acariciava com os dedos manchados de tinta negra.
Os esposos Torres viviam na propriedade adquirida pelo pai de Analía quando era ainda uma região meio selvagem, terra de soldados e bandidos. Agora encontrava-se junto da estrada e a pouca distância de uma povoação próspera, onde todos os anos se realizavam feiras agrícolas e de gado. Legalmente, Luis era o administrador da propriedade, mas na realidade era o tio Eugênio quem cumpria essa função, porque Luis aborrecia-se com os assuntos do campo. Depois do almoço, quando pai e filho se instalavam na biblioteca a beber conhaque e a jogar dominó, Analía ouvia o tio decidir sobre os investimentos, os animais, as sementeiras e as colheitas. Nas raras ocasiões em que ela se atrevia a intervir para dar uma opinião, os dois homens ouviam-na com aparente atenção, assegurando-lhe que tomariam em conta as suas sugestões, mas logo a seguir actuavam a seu bel-prazer. às vezes, Analía saía a galope pelas pastagens até aos limites da montanha desejando ter sido homem.
O nascimento de um filho não melhorou em nada os sentimentos de Analía pelo marido. Durante os meses de gravidez acentuou-se o seu carácter retraído, mas Luis não se impacientou, atribuindo tudo ao seu estado. De qualquer modo, ele tinha outros assuntos em que pensar. Depois de dar à luz, ela mudou-se para outro quarto, mobilado apenas com uma cama estreita e dura. Quando o filho fez um ano e ainda a mãe fechava à chave a porta do seu aposento evitando toda a ocasião de estar a sós com ele, Luis decidiu que já era tempo de exigir um trato mais considerado e advertiu a mulher de que mais valia mudar de atitude antes que partisse a porta a tiro.
Ela nunca o tinha visto tão violento. Obedeceu sem comentários. Nos sete anos que se seguiram, a tensão entre ambos aumentou de tal maneira que acabaram por tornar-se inimigos dissimulados, porque eram pessoas de bons modos e diante dos outros tratavam-se com uma exagerada cortesia.
Apenas o menino suspeitava do tamanho da hostilidade entre os pais e despertava a chorar a meio da noite, com a cama molhada. Analía ocultava-se numa couraça de silêncio e, a pouco e pouco, pareceu ir secando por dentro. Luis, pelo contrário, tornou-se mais expansivo e frívolo, abandonou-se aos seus múltiplos apetites, bebia demasiado e costumava perder-se por vários dias em inconfessáveis aventuras. Depois, quando deixou de dissimular os seus actos de esbanjamento, Analía encontrou bons pretextos para se afastar dele ainda mais. Luis perdeu todo o interesse pelas tarefas do campo e a mulher substituiu-o, contente por essa nova posição. Aos domingos, o tio Eugênio ficava na sala de jantar discutindo as decisões com ela, enquanto Luis mergulhava numa longa sesta, da qual ressuscitava ao anoitecer, ensopado em suor e de estômago a dar horas, mas sempre disposto a ir outra vez para a farra com os amigos.
Analía ensinou ao filho os rudimentos da escrita e a aritmética e tratou de iniciá-lo no gosto pelos livros. Quando o menino fez sete anos, Luis decidiu que já era tempo de lhe dar uma educação mais formal, longe dos mimos da mãe. Quis mandá-lo para um colégio na capital, para ver se ele se fazia homem depressa, mas Analía fez-lhe frente com tal ferocidade que ele teve de aceitar uma solução menos drástica. Levou-o para a escola da aldeia, onde ficou interno de segunda a sexta, aos sábados de manhã ia o carro buscá-lo para regressar a casa, até domingo. Na primeira semana, Analia observou o filho cheia de ansiedade, procurando motivos para o reter a seu lado, mas não pôde encontrar nenhum. A criança parecia contente, falava do seu professor e dos companheiros com sincero entusiasmo, como se tivesse nascido entre eles. Deixou de urinar na cama. Três meses depois, chegou com a caderneta escolar e uma nota do professor felicitando-o pelo seu bom rendimento. Analía leu-a a tremer e sorriu pela primeira vez em tanto tempo. Abraçou o filho comovida, interrogando-o sobre cada pormenor, como eram os dormitórios, que lhe davam de comer, se fazia frio à noite, quantos amigos tinha, como era o seu professor. Parecia muito mais tranquila e não voltou a falar em tirá-lo da escola. Nos meses seguintes o rapaz trouxe sempre boas classificações, que Analía coleccionava como tesouros e retribuía com frascos de marmelada e cestas de fruta para toda a classe. Fazia por não pensar que essa solução apenas servia para a instrução primária e que dentro de poucos anos seria inevitável mandar o menino para um colégio na cidade, só o podendo ver durante as férias.
Numa noite de farra na aldeia, Luis Torres, que tinha bebido demasiado, dispôs-se a fazer piruetas num cavalo alheio para demonstrar a sua habilidade de cavaleiro em frente de um grupo de compinchas de taberna. O animal atirou-o ao chão e com uma patada rebentou-lhe os testículos. Nove dias depois, Torres morreu uivando de dor numa clínica da capital, para onde o levaram com a esperança de o salvar da infecção. A seu lado estava a mulher, chorando de culpa pelo amor que nunca lhe pudera dar e de alívio porque já não teria de continuar a rezar para que ele morresse. Antes de voltar ao campo com o corpo num caixão para o enterrar na sua própria terra, Analía comprou um vestido branco e meteu-o no fundo da mala. Chegou de luto à aldeia, com a cara coberta por um véu de viúva para ninguém lhe ver a expressão dos olhos, e assim se apresentou no funeral, de mão dada com o filho, também vestido de preto.
No final da cerimônia, o tio Eugênio, que se mantinha muito saudável apesar dos seus setenta anos bem vividos, propôs à nora que lhe cedesse as terras e fosse para a capital viver das rendas, onde o menino terminaria a sua educação e ela podia esquecer as penas do passado.
- Porque percebo que tu, Analía, e o meu pobre Luis nunca foram felizes - disse ele.
- Tem razão, tio. Luis enganou-me desde o princípio.
- Por Deus, minha filha, ele sempre foi muito discreto e respeitoso contigo. Luis foi um bom marido. Todos os homens têm pequenas aventuras, mas isso não tem a menor importância.
- Não me refiro a isso, mas a um engano irremediável.
- Não quero saber do que se trata. Em todo o caso, penso que na capital o menino e tu estariam muito melhor. Nada vos faltará. Eu tomarei conta da propriedade, estou velho mas não acabado, ainda posso virar um touro.
- Ficarei aqui. O meu filho ficará também, porque tem de me ajudar no campo. Nos últimos anos trabalhei mais nas cavalariças do que em casa. A única diferença é que agora tomarei decisões sem pedir opinião a ninguém. Finalmente, esta terra é só minha. Adeus, tio Eugênio.
Nas primeiras semanas, Analía organizou a sua nova vida.
Começou por queimar os lençóis que havia partilhado com o marido e mudar a sua cama estreita para o quarto principal; depois estudou a fundo os livros de administração da propriedade, e mal teve uma ideia precisa dos seus bens, procurou um capataz que executasse as suas ordens sem fazer perguntas. Quando sentiu que tinha todas as suas rendas sob controlo procurou na mala o vestido branco, passou-o a ferro com esmero, vestiu-o e assim ataviada foi no seu carro até à escola da aldeia, levando debaixo do braço uma velha caixa de chapéus.
Analía Torres esperou no pátio que a campainha das cinco anunciasse o fim da última aula e que os rapazes em tropel saíssem para o recreio. Entre eles vinha em alegre correria o filho, que ao vê-la estacou, porque em a primeira vez que a mãe aparecia no colégio.
- Mostra-me a tua aula, quero conhecer o teu professor.
À porta, Analía fez sinal ao rapaz que se fosse embora, porque se tratava de um assunto privado, e entrou sozinha. Era uma sala grande de tectos altos, com mapas e desenhos de biologia nas paredes. Havia o mesmo cheiro a quarto fechado e a suor dos rapazes que tinha marcado a sua própria infância, mas nessa ocasião isso não a incomodou, pelo contrário, aspirou-o com prazer. As carteiras estavam em desordem por um dia de uso, havia alguns papéis no chão e tinteiros abertos.
Conseguiu ver uma coluna de números no quadro de ardósia. Ao fundo, na secretária sobre um estrado, estava o professor. O homem levantou a cara surpreendido e não se pôs de pé, porque as suas muletas estavam a um canto, demasiado longe para as alcançar sem arrastar a cadeira. Analía atravessou o corredor entre duas filas de carteiras e parou em frente dele.
- Sou a mãe de Torres - disse, porque não lhe veio à cabeça nada melhor.
- Boa tarde, minha senhora. Aproveito para lhe agradecer os doces e as frutas que nos tem enviado.
- Deixemos isso, não vim cá para agradecimentos. Vim pedir-lhe contas - disse Analía colocando a caixa de chapéus sobre a mesa.
- Que é isto!
Ela abriu a caixa e tirou as cartas de amor que tinha guardado todo aquele tempo. Por um longo momento ele correu os olhos por aquele monte de sobrescritos.
- O senhor deve-me onze anos da minha vida - disse Analía.
- Como sabe que fui eu quem as escreveu? - balbuciou ele quando conseguiu usar a voz que se lhe tinha escondido nalgum lado.
- No dia do meu casamento descobri que o meu marido não as podia ter escrito e, quando o meu filho trouxe para casa as suas primeiras notas, reconheci a caligrafia. E agora, que estou a olhar para si não tenho dúvidas, porque eu vi o senhor em sonhos desde os meus dezasseis anos. Porque fez isto? - Luis Torres era meu amigo e quando me pediu que escrevesse uma carta para a sua prima não me pareceu que houvesse nada de mal nisso. Foi assim com a segunda e a terceira; depois, quando a senhora me respondeu, já não pude voltar atrás. Esses dois anos foram os melhores da minha vida, os únicos em que esperei alguma coisa. Esperava o correio.
- Estou a ver.
- Pode perdoar-me!
- Depende do senhor - disse Analía, passando-lhe as muletas.
O professor vestiu o casaco e levantou-se. Os dois saíram para o bulício do pátio, onde ainda não se tinha posto o Sol.
23 - O Palácio imaginado
Cinco séculos atrás, quando os bravos foragidos de Espanha com os cavalos esgotados e armaduras quentes que nem brasas, pelo sol da América, pisaram as terras de Quinaroa, já os índios tinham passado vários milhares de anos a nascer e a morrer no mesmo lugar. Os conquistadores marcaram com brasões e bandeiras o descobrimento daquele novo território, declararam-no propriedade de um imperador remoto, levantaram a primeira cruz e baptizaram-no de São Jerónimo, nome impronunciável na língua dos nativos. Os índios observaram aquelas arrogantes cerimônias um pouco surpreendidos, mas já lhes haviam chegado notícias sobre aqueles guerreiros barbudos que percorriam o mundo com a sua chocalhada de ferros e pólvora, tinham ouvido que à sua passagem semeavam lamentos e que nenhum povo conhecido fora capaz de lhes fazer frente, todos os exércitos sucumbiam àquele punhado de centauros. Eles eram uma tribo antiga, tão pobre que nem o mais emplumado monarca se incomodava a exigir-lhes impostos e tão plácidos que nem os recrutavam para a guerra. Tinham vivido em paz desde os alvores do tempo e não estavam dispostos a mudar os seus hábitos por causa de uns rudes estrangeiros. No entanto, logo perceberam a dimensão do inimigo e compreenderam a inutilidade de os ignorar, porque a sua presença tornava-se pesada, como uma grande pedra carregada às costas. Nos anos seguintes, os índios que não morreram na escravidão ou nos diversos suplícios destinados a implantar outros deuses, ou vítimas de enfermidades desconhecidas, dispersaram-se pela seiva dentro e a pouco e pouco perderam até o nome do seu povo. Sempre ocultos, como sombras por entre a folhagem, mantiveram-se durante séculos falando em sussurros e andando de noite. Chegaram a ser tão hábeis na arte de se esconder, que a história não os registou e hoje em dia não há provas da sua passagem pela vida. Os livros não os mencionam, mas os camponeses da região dizem que já os ouviram no bosque e todas as vezes que começa a crescer a barriga a uma jovem solteira e não podem identificar o sedutor, atribuem o menino ao espírito de um índio concupiscente. As pessoas do lugar orgulham-se de ter algumas gotas de sangue daqueles seres invisíveis, no meio da torrente mesclada de pirata inglês, de soldado espanhol, de escravo africano, de aventureiro em busca do El Dourado e de quanto emigrante conseguiu chegar àqueles lados com o seu alforge ao ombro e a cabeça cheia de ilusões.
A Europa consumia mais café, cacau e bananas do que podíamos produzir, mas toda aquela procura não nos trouxe bonança, continuamos a ser tão pobres como sempre. A situação deu uma reviravolta quando um negro da costa cravou uma picareta no chão para fazer um poço e lhe saltou um jorro de petróleo na cara. Até ao final da Primeira Guerra Mundial tinha-se propagado a ideia de que aquele era um país próspero, embora os seus habitantes arrastassem ainda os pés na lama. Na verdade, o ouro só enchia as arcas do Benfeitor e do seu séquito, mas havia a esperança de que um dia ficaria qualquer coisa para o povo. Cumpriram-se duas décadas de democracia totalitária, como chamava o Presidente Vitalício ao seu governo, durante as quais toda a tentativa de subversão tinha sido esmagada, para sua maior glória. Na capital viam-se sintomas de progresso, carros a motor, cinematógrafos, geladarias, um hipódromo e um teatro onde se apresentavam espetáculos trazidos de Nova Iorque ou Paris. Todos os dias atracavam no porto dezenas de barcos que levavam o petróleo e outros que traziam novidades, mas o resto do território continuava afundado numa modorra de séculos.
Um dia, a gente de São Jerónimo despertou da sesta com as tremendas marteladas que presidiram à chegada do caminho de ferro. Os carris uniram a capital com aquela vilória, escolhida pelo Benfeitor para construir o seu Palácio de Verão, no estilo dos monarcas europeus, apesar de ninguém saber distinguir o Verão do Inverno, todo o ano se passava na humidade e escaldante respiração da Natureza. A única razão para levantar ali aquela obra monumental era que um naturalista belga afirmou que se o mito do Paraíso terrestre tinha algum fundamento, deveria achar-se por ali, onde a paisagem era duma beleza portentosa. Segundo as suas observações o bosque albergava mais de mil variedades de pássaros multicores e toda a espécie de orquídeas silvestres, desde as Brassias, tão grandes como um chapéu, até às diminutas Pleuroffiallis, visíveis só com uma lupa.
A ideia do palácio partiu de uns construtores italianos que se apresentaram a Sua Excelência com os planos de uma esquisita vivenda de mármore, um labirinto de inumeráveis colunas, largos corredores, escadarias curvas, arcos, abóbadas e capitéis, salões, cozinhas, quartos de dormir e mais de trinta banheiros decorados com fechaduras de ouro e prata. O caminho de ferro era a primeira etapa da obra, indispensável para transportar até àquele canto afastado as toneladas de materiais e as centenas de obreiros, mais os capatazes trazidos de Itália. A tarefa de levantar aquele quebra-cabeças durou quatro anos, alterou a flora e a fauna e teve um custo tão elevado como todos os barcos de guerra da frota nacional, mas pagou-se pontualmente com o escuro azeite da terra, e no dia do aniversário da Gloriosa Tomada do Poder cortaram a fita que inaugurava o Palácio de Verão. Para esta ocasião a locomotiva do comboio foi decorada com as cores da bandeira e os vagões de carga foram substituídos por carruagens de passageiros forradas a veludo e couro inglês, onde viajaram os convidados em traje de gala, incluindo alguns membros da mais antiga aristocracia, que embora detestassem esse andino desalmado que usurpara o governo, não ousaram recusar o seu convite.
O Benfeitor era um homem rude, de costumes camponeses, tomava banho em água fria, dormia sobre uma esteira no chão com o pistolão ao alcance da mão e botas calçadas, alimentava-se de carne assada e milho, só bebia água e café. O seu único luxo eram os charutos de tabaco negro, todos os outros achava que eram vícios de degenerados e de maricas, incluindo o álcool, que via com maus olhos e raramente oferecia à sua mesa. No entanto, com o tempo teve de aceitar alguns requintes à sua volta, porque compreendeu a necessidade de impressionar os diplomatas e outros visitantes ilustres, não fossem eles dar-lhe fama de bárbaro no estrangeiro. Não tinha uma esposa que o influenciasse no seu comportamento espartano.
Considerava o amor como uma debilidade perigosa, estava convencido de que todas as mulheres, excepto a sua própria mãe, eram potencialmente perversas e o mais prudente era mantê-las a certa distância. Dizia que um homem adormecido num abraço amoroso ficava tão vulnerável como um bebé de sete meses, por isso exigia que os seus generais habitassem nos quartéis, limitando a sua vida familiar a visitas esporádicas. Nenhuma mulher tinha passado uma noite completa na sua cama nem podia vangloriar-se de qualquer coisa mais que um encontro apressado, nenhuma lhe deixou marcas duradouras até que Marcia Lieberman apareceu no seu destino.
A festa de inauguração do Palácio de Verão foi um acontecimento nos anais do governo do Benfeitor. Durante dois dias e duas noites as orquestras revezaram-se para tocar os ritmos da moda e os cozinheiros prepararam um banquete sem fim. As mulatas mais belas do Caribe, ataviadas com esplêndidos vestidos fabricados para a ocasião, bailaram nos salões com militares que nunca haviam participado em batalha alguma, mas que tinham o peito carregado de medalhas. Houve toda a espécie de divertimentos: cantores trazidos de Havana e Nova Orleães, bailarinas de flamengo, magos, malabaristas e trapezistas, partidas de cartas e dominó e até uma caçada de coelhos, que os criados tiraram das suas jaulas para os pôr a correr, e que os hóspedes perseguiam com galgos de raça e tudo isto terminou quando um engraçado matou a tiro de caçadeira os cisnes de pescoço negro da lagoa. Alguns convidados caíram rendidos sobre os móveis, bêbados de cumbias e licores, enquanto outros se lançaram vestidos para a piscina ou se dispersaram em casais pelos quartos. O Benfeitor não quis conhecer os pormenores. Depois de dar as boas-vindas aos seus hóspedes com um breve discurso e começar o baile pelo braço da dama de maior hierarquia, regressara à capital sem se despedir de ninguém. As festas punham-no de mau humor. Ao terceiro dia, o comboio fez a viagem de volta levando os comensais extenuados. O Palácio de Verão ficou em estado calamitoso, as casas de banho pareciam esterqueiras, as cortinas encharcadas de mijo, os móveis escavacados, as plantas murchas nas floreiras. Os empregados necessitaram de uma semana para limpar os restos daquele furacão.
O Palácio não voltou a ser cenário de bacanais. Nalgumas tardes o Benfeitor fazia-se conduzir ali para se afastar das pressões do seu cargo, mas o descanso não durava mais que três ou quatro dias por ter medo que a conspiração crescesse na sua ausência. O governo pedia a sua permanente vigilância para que o poder não lhe escorresse pelas mãos. No enorme edifício só ficou o pessoal encarregado da sua manutenção. Quando terminou o estrépito das máquinas da construção e a passagem do comboio, e quando se calou o eco da festa inaugural, a paisagem recuperou a calma e de novo floresceram as orquídeas e nidificaram os pássaros. Os habitantes de São Jerónimo retomaram os trabalhos habituais e quase conseguiram esquecer a presença do Palácio de Verão. Então, lentamente, voltaram os índios invisíveis a ocupar o seu território.
Os primeiros sinais foram tão discretos que ninguém lhes prestou atenção: passos e murmúrios, silhuetas rápidas por entre as colunas, a marca de uma mão sobre a clara superfície de uma mesa. Pouco a pouco começou a desaparecer a comida das cozinhas e as garrafas das adegas, de manhã algumas camas apareciam revolvidas. Os empregados culpavam-se uns aos outros, mas abstiveram-se de levantar a voz, porque a ninguém convinha que o oficial da guarda tomasse o assunto em suas mãos. Era impossível vigiar toda a extensão daquela casa, enquanto revistavam um quarto, no do lado ouviam-se suspiros, mas quando abriam a porta só encontravam as cortinas a abanar como se alguém acabasse de passar através delas. Correu o boato de que o Palácio estava assombrado e logo o medo contaminou também os soldados, que deixaram de fazer rondas noturnas e se limitaram a ficar imóveis nos seus postos, olhando a paisagem, de armas aperradas. Assustados, os criados já não desciam às caves e por precaução fecharam vários aposentos à chave. Ocupavam a cozinha e dormiam numa ala do edifício. O resto da mansão ficou sem vigilância, na posse desses índios incorpóreos, que tinham dividido os quartos com linhas ilusórias e se haviam estabelecido ali como espíritos brincalhões. Tinham resistido à passagem da história, adaptando-se às mudanças quando foi inevitável e ocultando-se na dimensão própria quando necessário. Nos quartos do Palácio encontraram refúgio, ali se amavam sem ruído, nasciam sem celebrações e morriam sem lágrimas. Aprenderam tão bem todos os caminhos daquele dédalo de mármore, que podiam existir sem inconvenientes no mesmo espaço com os guardas e o pessoal de serviço sem nunca se roçar, como se pertencessem a outro tempo.
O embaixador Lieberman desembarcou no porto com a esposa e um carregamento de objetos. Viajava com os seus cães, com todos os seus móveis, a sua biblioteca, a sua coleção de discos de ópera e toda a espécie de apetrechos desportivos, incluindo um barco à vela. Desde que lhe anunciaram o seu novo destino começou a detestar esse país. Deixava o seu posto de ministro conselheiro em Viena, empurrado pela ambição de subir a embaixador, mesmo que fosse na América do Sul, numa terra estapafúrdia que não lhe inspirava nem a mais pequena simpatia. Ao contrário, Marcia, sua mulher, encarou o assunto com o melhor humor. Estava disposta a seguir o marido na sua peregrinação diplomática, apesar de cada dia se sentir mais afastada dele e de os assuntos mundanos lhe interessarem muito pouco, porque a seu lado dispunha de uma grande liberdade. Bastava cumprir com certos requisitos mínimos de uma esposa e o resto do tempo pertencia-lhe. Na verdade, o marido, demasiado ocupado no seu trabalho e nos seus desportos, mal dava conta da sua existência, só a notava quando estava ausente. Para Lieberman sua mulher era um complemento indispensável na carreira, dava-lhe brilho na vida social e manejava com eficiência o seu complicado lar. Considerava-a uma sócia legal, mas até então não tinha tido nem o menor interesse em conhecer a sua sensibilidade. Marcia consultou mapas e uma enciclopédia para saber pormenores sobre essa longínqua nação e começou a estudar espanhol. Durante as duas semanas de travessia pelo Atlântico leu os livros do naturalista belga e já estava apaixonada por essa quente geografia antes de a conhecer. Era de temperamento retraído, sentia-se mais feliz cultivando o seu jardim que nos salões onde devia acompanhar o marido e achou que naquele país estaria mais livre das exigências sociais, poderia dedicar-se a ler, a pintar e a descobrir a Natureza.
A primeira medida de Lieberman foi instalar ventoinhas em todos os quartos da sua residência. Em seguida apresentou credenciais às autoridades do governo. Quando o Benfeitor o recebeu no seu escritório, o casal tinha passado apenas uns dias na cidade, mas já haviam chegado aos ouvidos do caudilho que a esposa do embaixador era muito bela.
Por protocolo convidou-os para uma ceia, apesar do ar arrogante e da charlatanice do diplomata lhe parecerem insuportáveis. Na noite marcada, Marcia Lieberman entrou no Salão de Recepções pelo braço do marido e pela primeira vez na sua longa trajectória o Benfeitor perdeu a respiração face a uma mulher. Tinha visto rostos mais formosos e portes mais esbeltos, mas nunca tanta graça. Despertou-lhe a memória de conquistas passadas, fervendo-lhe o sangue com um calor que há muitos anos não sentia. Durante aquela noite manteve-se à distância, observando a embaixatriz dissimuladamente, seduzido pela curva do busto, pela sombra dos seus olhos, pelos gestos das mãos, pela seriedade da sua atitude. Talvez tivesse passado pela sua mente o facto de que tinha quarenta e tantos anos mais que ela e que qualquer escândalo teria repercussões inevitáveis para lá das suas fronteiras, mas isso não conseguiu dissuadi-lo, pelo contrário, acrescentou um ingrediente irresistível à sua nascente paixão.
Marcia Lieberman sentiu o olhar do homem pegado à sua pele, como uma carícia indecente, deu-se conta do perigo, mas não teve forças para escapar. Num dado momento pensou pedir ao marido para se retirarem, mas em vez disso ficou sentada desejando que o velho se aproximasse dela e ao mesmo tempo disposta a fugir correndo se ele o fizesse. Não sabia por que razão tremia. Não teve ilusões a respeito dele, de longe podia pormenorizar os sinais da sua decrepitude, a pele marcada por rugas e manchas, o corpo seco, o andar vacilante, pôde imaginar-lhe o cheiro a ranço e adivinhar que debaixo das luvas de pelica branca as suas mãos eram duas garras. Mas os olhos do ditador, enevoados pela idade e o exercício de tantas crueldades, tinham ainda um fulgor de domínio que a paralisou na cadeira.
O Benfeitor não sabia fazer a corte a uma mulher, não tivera até então necessidade de o fazer. Isso actuou a seu favor, porque se tivesse espantado Marcia com galanteios de sedutor acabaria por ser repulsivo e ela teria retrocedido com desprezo. Pelo contrário, ela não pôde negar-se quando poucos dias depois ele apareceu à sua porta, vestido à paisana e sem escolta, como um bisavô triste, para lhe dizer que há dez anos não tocava numa mulher, que já estava morto para as tentações desse tipo, mas com todo o respeito solicitava que o acompanhasse naquela tarde a um lugar privado, onde pudesse descansar a cabeça nos seus joelhos de rainha e contar-lhe como era o mundo quando ele era ainda um macho de boa figura e ela ainda não o tinha conhecido.
- E o meu marido? - conseguiu perguntar Marcia com um sopro de voz.
- Seu marido não existe, minha filha. Agora só existimos você e eu - respondeu o Presidente Vitalício, levando-a pelo braço até ao seu Packard negro.
Marcia não regressou a casa e antes de passar um mês o embaixador Lieberman partiu de regresso ao seu país. Tinha removido pedras em busca da mulher, negando-se por princípio a aceitar o que já não era nenhum segredo, mas quando as evidências do rapto foram impossíveis de ignorar, Lieberman pediu uma audiência ao Chefe do Estado e exigiu a devolução da esposa. O intérprete tentou suavizar as suas palavras ao fazer a tradução, mas o presidente captou o tom e aproveitou o pretexto para se desfazer uma vez por todas daquele marido imprudente. Declarou que Lieberman tinha insultado a Nação ao lançar aquelas acusações disparatadas sem nenhum fundamento e ordenou-lhe que saísse das suas fronteiras no prazo de três dias. Ofereceu-lhe a alternativa de o fazer sem escândalo, para proteger a dignidade do seu país, já que ninguém tinha interesse em romper as relações diplomáticas e obstruir o livre tráfego dos barcos petroleiros. No fim da entrevista, com uma expressão de pai ofendido, acrescentou que podia entender o seu desgosto e que fosse tranquilo, porque na sua ausência continuaria a busca da senhora.
Para provar a sua boa vontade chamou o chefe da Polícia e deu-lhe instruções diante do embaixador. Se em algum momento Lieberman pensou recusar-se a partir sem Marcia, um segundo pensamento fê-lo compreender que se expunha a um tiro na nuca, de modo que empacotou os seus pertences e saiu do país antes do prazo indicado.
O amor apanhou o Benfeitor de surpresa numa idade em que já não se recordava das impaciências do coração. Esse cataclismo revolveu-lhe os sentidos e pô-lo de volta na adolescência, mas não foi suficiente para adormecer a sua astúcia de raposo. Compreendeu que se tratava de uma paixão senil e foi impossível para ele imaginar que Marcia retribuísse os seus sentimentos. Não sabia por que motivo ela o tinha seguido naquela tarde, mas a sua razão dizia-lhe que não era por amor e, como não sabia nada de mulheres, supôs que ela se tinha deixado seduzir pelo gosto da aventura ou por cobiça do poder. Na realidade ela fora vencida pela pena. Quando o velho a abraçou ansioso, com os olhos aguados de humilhação porque a virilidade não lhe respondia como antigamente, ela obstinou-se com paciência e boa vontade a devolver-lhe o orgulho. E assim, ao fim de várias tentativas, o homem conseguiu passar o umbral e passear durante breves instantes pelos mornos jardins oferecidos, caindo em seguida com o coração cheio de espuma.
- Fica comigo - pediu-lhe o Benfeitor mal conseguiu vencer o medo de sucumbir em cima dela.
E Marcia ficou porque a comoveu a solidão do velho caudilho e porque a alternativa de regressar onde estava o marido lhe pareceu menos interessante do que o desafio de atravessar o cerco de ferro atrás do qual aquele homem tinha vivido durante quase oitenta anos.
O Benfeitor manteve Marcia oculta numa das suas propriedades, onde a visitava diariamente. Nunca ficou para passar a noite com ela.
O tempo juntos passava-se em lentas carícias e conversas. No seu espanhol titubeante, ela contava-lhe as suas viagens e os livros que lia, ele escutava-a sem compreender muito, mas deliciado com a cadência da sua voz. Outras vezes ele referia-se à sua infância nas terras secas dos Andes ou aos seus tempos de soldado, mas se ela lhe fazia alguma pergunta, imediatamente se calava, observando-a de soslaio, como a um inimigo. Marcia notou essa dureza sem ponta de comoção e compreendeu que o seu hábito de desconfiança era muito mais poderoso que a necessidade de se abandonar à ternura, e ao cabo de umas semanas aceitou a derrota. Ao renunciar à esperança de o ganhar para o amor, perdeu o interesse por aquele homem, e então quis sair das paredes onde estava sequestrada. Mas já era tarde. O Benfeitor necessitava dela a seu lado, porque era a companheira mais próxima que tinha conhecido, o marido havia regressado à Europa e ela precisava de um lugar naquela terra, pois até o seu nome começava a apagar-se na recordação de outras paragens.
O ditador percebeu a mudança dela e o receio aumentou, mas não deixou de a amar por isso. Para a consolar da reclusão a que estava condenada para sempre, porque a sua aparição na rua confirmaria as afirmações de Lieberman e iriam corromper-se as relações internacionais, procurou para ela todas aquelas coisas de que gostava, música, livros, animais. Marcia passava as horas num mundo próprio, cada dia mais desprendida da realidade. Quando ela deixou de lhe dar alento, para ele foi impossível tornar a abraçá-la e os seus encontros tornaram-se em aprazíveis tardes de chocolate e biscoitos. No seu desejo de lhe agradar, um dia o Benfeitor convidou-a a conhecer o Palácio de Verão para ver de perto o paraíso do naturalista belga, do qual ela tanto tinha lido.
O comboio não mais se usou desde a festa inaugural, dez anos antes, e estava em ruínas, de modo que fizeram a viagem em automóvel, dirigidos por uma caravana de guardas e empregados que partiram uma semana antes levando tudo o que era necessário para voltar a dar ao Palácio os luxos do primeiro dia. O caminho era apenas um carreiro limpo da vegetação por grupos de presos. Nalguns trechos tiveram de recorrer às catanas para cortar os fetos e a bois para arrancar os carros da lama, mas nada disso diminuiu o entusiasmo de Marcia.
Estava deslumbrada com a paisagem. Suportou o calor úmido e os mosquitos como se não os sentisse, atenta àquela natureza que parecia envolvê-la num abraço. Teve a impressão de que tinha estado ali antes, talvez em sonhos ou noutra existência, que pertencia àquele lugar, que até então fora uma estrangeira no mundo e que todos os passos dados, incluindo o de deixar a casa do marido para seguir um velho trémulo, haviam sido assinalados pelo seu instinto como o único propósito de a conduzir até ali. Antes de ver o Palácio de Verão já sabia que essa seria a sua última residência. Quando o edifício apareceu, finalmente, entre a folhagem, ladeado de palmeiras e a brilhar ao sol, Marcia suspirou aliviada, como um náufrago ao voltar a ver o porto de origem.
Apesar dos frenéticos preparativos para os receber, a mansão tinha um ar de encantamento. A sua arquitectura romana, pensada como centro de um parque geométrico e grandiosas avenidas, estava submersa na desordem de uma vegetação voraz.
O clima tórrido alterara a cor dos materiais, cobrindo-os com uma patina prematura, da piscina e dos jardins não se via nada. Os galgos de caça tinham rebentado as suas correias muito tempo atrás e vagueavam pelos limites da propriedade, uma matilha esfaimada e feroz que recebeu os recém-chegados com um coro de latidos. As aves haviam feito ninho nos capitéis e coberto de excrementos os relevos. Por todos os lados havia sinais de desordem. O Palácio de Verão transformara-se numa criatura viva, aberta à verde invasão da seiva que o tinha envolvido e penetrado. Marcia saltou do automóvel e correu até às grandes portas, onde esperava a escolta estafada pela canícula. Percorreu um a um todos os quartos, os grandes salões decorados com lustres de cristal, pendurados dos tectos como raízes de estrelas, e móveis franceses em que as lagartixas faziam ninho, os quartos de dormir com os seus leitos de dossel desbotados pela intensidade da luz, os banheiros onde o musgo se insinuava pelas juntas dos mármores. Caminhava sorrindo, com a atitude de quem recupera algo que lhe tinha sido arrebatado.
Durante os dias seguintes o Benfeitor viu Marcia tão contente, que um certo vigor voltou a aquecer-lhe os seus gastos ossos e pôde abraçá-la como nos primeiros encontros. Ela aceitou-o distraído. A semana que pensavam passar ali prolongou-se por duas, porque o homem se sentia muito bem.
Desapareceu o cansaço acumulado nos seus anos de sátrapa e atenuaram-se várias das suas doenças de velho. Passeou com Marcia pelos arredores, apontando-lhe as múltiplas variedades de orquídeas que trepavam pelos troncos ou caíam como uvas dos ramos mais altos, as nuvens de mariposas brancas que cobriam o chão e os pássaros de plumas iridiscentes que enchiam o ar com os seus pios. Brincou com ela como um jovem amante, deu-lhe de comer na boca a polpa deliciosa das mangas silvestres, banhou-a com as suas próprias mãos em infusões de ervas e fê-la rir com uma serenata debaixo da sua janela. Há anos que não se afastava da capital, salvo para curtas viagens de avioneta às províncias onde a sua presença era requerida para sufocar algum começo de insurreição e dar ao povo a certeza de que a sua autoridade era inquestionável. Aquelas inesperadas férias puseram-no de muito bom humor, a vida parecia-lhe mais amável e teve a fantasia de que junto daquela formosa mulher poderia continuar a governar eternamente. Uma noite, o sono surpreendeu-o nos braços dela. Despertou de madrugada aterrado com a sensação de se ter atraiçoado a si mesmo. Levantou-se a suar, com o coração na boca e observou-a sobre a cama, branca odalisca em repouso, com o cabelo de cobre cobrindo-lhe a cara. Saiu a dar ordens à sua escolta para regressarem à cidade. Não ficou surpreendido por Marcia não mostrar indícios de querer acompanhá-lo. Talvez no fundo preferisse assim, porque compreendeu que ela representava a sua mais perigosa fraqueza, a única que poderia fazê-lo esquecer o poder.
O Benfeitor partiu para a capital sem Marcia. Deixou-lhe meia dúzia de soldados para vigiar a propriedade e alguns empregados para o seu serviço, e prometeu-lhe que manteria o caminho em boas condições, para ela receber os seus presentes, as provisões, o correio e alguns jornais. Garantiu que a visitaria frequentemente, tanto quanto as suas obrigações de Chefe de Estado lho permitissem, mas, ao despedirem-se, ambos sabiam que não voltariam a encontrar-se. A caravana do Benfeitor perdeu-se por detrás dos fetos e por momentos o silêncio rodeou o Palácio de Verão. Marcia sentiu-se verdadeiramente livre pela primeira vez na sua existência. Tirou os ganchos que lhe seguravam o cabelo num carrapito e sacudiu a cabeça. Os guardas desabotoaram os casacões e largaram as armas enquanto os empregados foram pendurar as suas redes nos cantos mais frescos.
Das sombras os índios tinham observado os visitantes durante essas duas semanas. Sem deixar-se enganar pela pele clara e pelo lindo cabelo crespo de Marcia Lieberman, reconheceram-na como uma deles, mas não se atreveram a materializar-se na sua presença porque viviam há séculos na clandestinidade. Depois da partida do velho e do seu séquito, eles voltaram a ocupar, sigilosos, o espaço onde tinham vivido durante gerações.
Marcia sentiu que nunca estava só, por onde ia mil olhos a seguiam, à sua volta brotava um murmúrio constante, um respirar suave, uma pulsação rítmica, mas não teve medo, pelo contrário, sentiu-se protegida por duendes amáveis.
Acostumou-se a pequenas perturbações; um dos seus vestidos desaparecia por vários dias e depois aparecia, de manhã, numa cesta aos pés da cama, alguém comia a sua ceia pouco antes de ela entrar na sala de jantar, roubavam as suas aguarelas e os seus livros, sobre a sua mesa apareciam orquídeas recém-cortadas, nalgumas tardes a sua banheira esperava-a com folhas de hortelã flutuando na água fresca, ouviam-se as notas dos pianos nos salões vazios, gemidos de amantes nos armários, vozes de meninos no forro do tecto. Os empregados não tinham explicação para tais coisas e por isso ela deixou de lhes fazer perguntas porque imaginou que eles também faziam parte daquela benevolente conspiração. Uma noite, esperou agachada com uma lanterna entre as cortinas, e ao sentir um bater de pés sobre o mármore acendeu a luz. Pareceu-lhe ver umas silhuetas nuas, que por alguns instantes a olharam suavemente e depois se esfumaram. Chamou-as em espanhol, mas ninguém respondeu, compreendeu que necessitaria de imensa paciência para descobrir aqueles mistérios, mas não se importou com isso, porque tinha o resto da sua vida pela frente.
Alguns anos depois o país foi sacudido pela notícia de que a ditadura tinha terminado por uma causa surpreendente: o Benfeitor morrera. Apesar de ser já um velho reduzido a pele e osso e de estar a apodrecer há meses dentro do uniforme, na realidade muito poucos imaginavam que aquele homem fosse mortal. Ninguém se recordava do tempo antes dele, estava há tantas décadas no poder que o povo se acostumara a considerá-lo um mal inevitável, como o clima. Os ecos do funeral demoraram um pouco a chegar ao Palácio de Verão. Por essa altura quase todos os guardas e criados, cansados de esperar uma rendição que nunca veio, tinham desertado dos seus postos. Marcia Lieberman ouviu as notícias sem se alterar. Na realidade, teve de fazer um esforço para recordar o passado, o que havia mais para lá da selva e o velho com olhinhos de falcão que transformara o seu destino. Percebeu que com a morte do tirano desapareciam as razões para permanecer oculta, agora podia regressar à civilização, onde certamente ninguém se importava já com o escândalo do seu rapto, mas logo pôs de parte essa ideia, porque nada fora daquela região emaranhada lhe interessava. A sua vida decorria aprazível entre os índios, imersa naquela natureza verde, apenas vestida com uma túnica, de cabelo curto, adornada de tatuagens e flores. Era totalmente feliz.
Uma geração mais tarde, quando a democracia se tinha estabelecido no país e da longa história dos ditadores não restava senão um vestígio nos livros escolares, alguém se lembrou da vivenda de mármore e propôs recuperá-la para fundar uma Academia de Arte. O Congresso da República enviou uma comissão para fazer um relatório, mas os automóveis perderam-se pelo caminho e quando chegaram por fim a São Jerónimo, ninguém soube dizer-lhes onde ficava o Palácio de Verão. Quiseram seguir os carris do caminho de ferro, mas tinham sido arrancados das chulipas e a vegetação apagara-lhes os vestígios. O Congresso mandou então um destacamento de exploradores e dois engenheiros militares que voaram sobre a zona em helicóptero, mas a vegetação era tão espessa que também não puderam dar com o lugar. Os rastos do Palácio confundiram-se na memória das pessoas e nos arquivos municipais, a noção da sua existência tornou-se um dichote de comadres, as informações foram devoradas pela burocracia e como a pátria tinha problemas mais urgentes, o projecto da Academia de Arte foi posto de parte.
Agora construíram uma estrada que une São Jerónimo com o resto do país. Dizem os viajantes que às vezes, depois de uma tormenta, quando o ar está úmido e carregado de electricidade, surge junto do caminho um palácio de mármore branco, que por breves instantes permanece suspenso a certa altura, como uma miragem, para logo desaparecer sem ruído.
24 - Somos feitos de barro
Descobriram a cabeça da menina saindo do lodaçal, com os olhos abertos, chamando sem voz. Tinha um nome de primeira comunhão, Açucena. Naquele interminável cemitério, onde o cheiro dos mortos atraía os abutres mais afastados e onde o choro dos órfãos e os lamentos dos feridos enchiam o ar, aquela rapariga obstinada em viver tornou-se o símbolo da tragédia. As câmaras, de tanto transmitirem a visão insuportável da sua cabeça saindo do barro como uma cabaça negra, fizeram com que ninguém ficasse sem a conhecer nem nomear.
E sempre que a víamos aparecer na tela, atrás dela estava Rolf Carlé, que conseguiu chegar ao lugar atraído pela notícia, sem suspeitar que ali iria encontrar um pedaço do seu passado, perdido trinta anos atrás.
Primeiro foi um soluço subterrâneo que fez mexer os campos de algodão, encrespando-se como uma onda de espuma. Os geólogos tinham instalado as suas máquinas de medir com semanas de antecedência e já sabiam que a montanha tinha acordado outra vez. Desde há muito que previam que o calor da erupção podia desprender os gelos eternos das ladeiras do vulcão, mas ninguém fez caso dessas advertências, porque soava a um conto de velhos. Os povos do vale continuaram a sua vida surdos aos queixumes da terra, até à noite dessa quarta-feira de Novembro fatal, quando um longo ruído anunciou o fim do mundo e as paredes de neve se desprenderam, rodando numa avalancha de barro, pedras e água que caiu sobre as aldeias, sepultando-as debaixo de metros insondáveis de vómito telúrico. Mal conseguiram sair da paralisia do primeiro espanto, os sobreviventes viram que as casas, as praças, as igrejas, as plantações brancas de algodão, os sombrios bosques de café e as pastagens dos touros de cobrição tinham desaparecido. Muito depois, quando chegaram os voluntários e os soldados para salvar os vivos e avaliar a dimensão do cataclismo, calcularam que debaixo do lodo havia mais de vinte mil seres humanos e um número impreciso de animais, apodrecendo num caldo viscoso.
Também tinham sido destruídos os bosques e os rios e à vista não havia senão um imenso deserto de barro. Quando de madrugada telefonaram do Canal, Rolf Carlé e eu estávamos juntos.
Saltei da cama tonta de sono e fui preparar café enquanto ele se vestia à pressa. Meteu os seus instrumentos de trabalho numa bolsa de lona verde que trazia sempre consigo, e despedimo-nos como tantas outras vezes. Não tive nenhum pressentimento. Fiquei na cozinha a beber o meu café e a planear as horas sem ele, certa de que estaria de volta no dia seguinte.
Foi dos primeiros a chegar, porque enquanto outros jornalistas se aproximavam das margens do pântano em jipes, em bicicletas, a pé, abrindo caminho cada um como melhor podia, ele contava com o helicóptero da televisão e pôde voar por cima da avalancha. Nos ecrãs apareciam as cenas captadas pela câmara do seu assistente, onde ele se via enterrado até aos joelhos, com um microfone na mão, no meio de um alvoroço de meninos perdidos, de mutilados, de cadáveres e ruínas. O relato chegou-nos através da sua voz tranquila. Durante anos tinha-o visto no noticiário, remexendo em batalhas e catástrofes, sem que nada o fizesse parar, com uma perseverança temerária e sempre me assombrou a sua atitude calma perante o perigo e o sofrimento, como se nada conseguisse abalar as suas forças nem desviar a sua curiosidade. O medo parecia não o tocar, mas ele confessara-me que não era um homem valente, nem nada que se parecesse. Julgo que a lente da máquina tinha um efeito estranho nele, como se o transportasse a outro tempo, do qual ele podia ver os acontecimentos sem participar realmente neles. Ao conhecê-lo melhor compreendi que essa distância fictícia mantinha-o a salvo das suas próprias emoções.
Rolf Carlé esteve junto de Açucena desde o princípio, filmou os voluntários que a descobriram e os primeiros que tentaram aproximar-se dela, a sua câmara focava com insistência a menina, a sua cara morena, os seus grandes olhos desolados, o emaranhado compacto do seu cabelo. Naquele sítio o lodo era denso e havia perigo de se enterrarem ao pisá-lo. Atiraram-lhe uma corda, que ela não quis agarrar, até que lhe gritaram que a apanhasse, então tirou uma mão e tentou mover-se, mas a seguir afundou-se ainda mais. Rolf tirou a bolsa e o resto do seu equipamento e avançou pelo pântano, comentando para o microfone do ajudante que fazia frio e já começava a pestilência dos cadáveres.
- Como te chamas? - perguntou à rapariga, e ela respondeu com o seu nome de flor. - Não te mexas, Açucena - ordenou-lhe Rolf Carlé, continuou a falar-lhe sem pensar o que dizia, apenas para a distrair, enquanto se arrastava lentamente com barro até à cintura. O ar à sua volta parecia tão turvo como o lodo.
Por aquele lado não era possível aproximar-se, por isso recuou e foi dar uma volta por onde o terreno parecia mais firme. Quando por fim estava perto dela, pegou na corda e amarrou-lha debaixo dos braços para que a pudessem içar. Sorriu-lhe com aquele seu sorriso que lhe diminuía os olhos e faz voltar à infância, disse-lhe que tudo ia bem, já estava com ela e que, em seguida, a tirariam. Fez sinais aos outros para que a içassem, mas mal a corda se esticou a rapariga gritou. Tentaram de novo e apareceram os seus ombros e os braços, mas não puderam movê-la mais, estava atascada. Alguém sugeriu que talvez tivesse as pernas apertadas entre as ruínas da sua casa e ela disse que não eram só os escombros, também a prendiam os corpos dos irmãos, agarrados a ela.
- Não te preocupes, vamos tirar-te daqui - prometeu Rolf.
Apesar das falhas de transmissão, notei que a voz dele se calava e senti-me mais perto por isso. Ela olhou-o sem responder.
Nas primeiras horas Rolf Carlé esgotou os recursos do seu engenho para a salvar. Lutou com paus e cordas, mas cada esticão era um suplício intolerável para a prisioneira.
Lembrou-se de fazer uma alavanca com uns paus, mas isso não deu resultado e teve de abandonar também essa ideia. Conseguiu dois soldados que trabalharam com ele algum tempo, mas depois deixaram-no sozinho, porque muitas outras vítimas reclamavam ajuda. A rapariga não podia mover-se e mal conseguia respirar, mas não parecia desesperada, como se uma resignação ancestral lhe permitisse ler o destino. O jornalista, por seu lado, estava decidido a arrancá-la à morte. Levaram-lhe um pneu que ele colocou debaixo dos braços dela como um salva-vidas, depois atravessou uma tábua pelo buraco para se apoiar e alcançá-la melhor. Como era impossível remover os escombros às cegas, mergulhou um par de vezes para explorar aquele inferno, mas saiu exasperado, coberto de lodo, cuspindo pedras. Achou que necessitava de uma bomba para extrair a água e enviou alguém para a pedir pela rádio, mas voltaram com a mensagem de que não havia transporte e não podiam enviá-la antes da manhã seguinte.
- Não podemos esperar tanto! - reclamou Rolf Carlé, mas naquele salve-se quem puder ninguém lhe deu ouvidos. Teriam ainda de passar muitas horas mais antes que ele aceitasse que o tempo se esgotara e que a realidade tinha sofrido uma distorção irremediável.
Um médico militar aproximou-se para examinar a menina e afirmou que o seu coração funcionava bem e que se não arrefecesse podia resistir mais aquela noite.
- Tem paciência, Açucena, amanhã vão trazer a bomba - disse Rolf Carlé, fazendo por a consolar.
- Não me deixes sozinha - pediu-lhe ela.
- Não, claro que não.
Levaram-lhe café e ele deu-o à rapariga, sorvo a sorvo. O líquido quente animou-a, começou a falar da sua pequena vida, da sua família e da escola, de como era aquele pedaço do mundo antes de rebentar o vulcão. Tinha treze anos e nunca saíra dos limites da sua aldeia. O jornalista empurrado por um optimismo prematuro, convenceu-se de que tudo terminaria bem, chegaria a bomba, extrairiam a água, tirariam os escombros e Açucena seria trasladada em helicóptero para um hospital, onde se actuaria com rapidez e onde ele poderia visitá-la e levar-lhe presentes. Pensou que já não tinha idade para bonecas e não soube do que ela gostaria, talvez de um vestido. Não percebo muito de mulheres, concluiu divertido, calculando que tivera muitas na sua vida, mas que nenhuma lhe ensinara esses pormenores. Para enganar as horas começou a contar-lhe as suas viagens e as suas aventuras de caçador de notícias, e quando se esgotaram as recordações deitou mão da imaginação para inventar qualquer coisa que pudesse distraí-la. Em alguns momentos ela dormitava, mas ele continuava a falar-lhe no escuro, para lhe demonstrar que não se tinha ido embora e para vencer a perseguição da incerteza. Foi uma longa noite.
A muitas milhas dali, eu observava num ecrã Rolf Carlé e a rapariga. Não resisti a esperar em casa e fui até à Televisão Nacional, onde muitas vezes passei noites inteiras com ele editando programas. Assim, estive perto dele e pude ver o que ele viveu naqueles três dias definitivos. Fui ter com quanta gente importante existe na cidade, com os senadores da República, os generais das Forças Armadas, o embaixador norte-americano e o presidente da Companhia de Petróleos, pedindo-lhes uma bomba para extrair o barro, mas só obtive promessas vagas. Comecei a pedi-la com urgência pela rádio e televisão, a ver se alguém podia ajudar-nos. Entre as chamadas, corria ao centro de recepção para não perder as imagens do satélite, que chegavam a cada momento com novos pormenores da catástrofe. Enquanto os jornalistas seleccionavam as cenas de maior impacte para o noticiário, eu procurava aquelas em que aparecia o poço de Açucena. a tela reduzia o desastre a um só plano e acentuava a tremenda distância que me separava de Rolf Carlé, no entanto eu estava com ele, cada padecimento da menina doía-me como a ele, sentia a sua mesma frustração, a sua impotência. Ante a impossibilidade de comunicar com ele, veio-me à ideia o recurso fantástico de me concentrar para o alcançar com a força do pensamento e assim dar-lhe ânimo. Por momentos atordoava-me numa frenética e inútil actividade, de vez em quando o dó vergava-me e começava a chorar e outras vezes o cansaço vencia-me e julgava estar a olhar por um telescópio a luz de uma estrela morta há um milhão de anos.
No primeiro noticiário da manhã vi aquele inferno, onde flutuavam cadáveres de homens e animais arrastados pelas águas de novos rios, formados numa só noite pela neve derretida. Do lodo sobressaíam as copas de algumas árvores e o campanário de uma igreja, onde várias pessoas tinham encontrado refúgio e esperavam com paciência as equipas de salvamento. Centenas de soldados e de voluntários da Defesa Civil tentaram remover escombros em busca dos sobreviventes, enquanto filas de espectros em farrapos esperavam a sua vez de uma malga de caldo. As cadeias de rádio informaram que os seus telefones estavam congestionados pelas chamadas de famílias que ofereciam albergue às crianças órfãs. Faltavam a água para beber, a gasolina e os alimentos. Os médicos, resignados a amputar membros sem anestesia, pediam soro, pelo menos, analgésicos e antibióticos, mas a maior parte dos caminhos estavam interrompidos e ainda por cima a burocracia atrasava tudo. Entretanto, o barro contaminado pelos cadáveres em decomposição ameaçava os vivos com a peste.
Açucena tremia apoiada ao pneu que a sustinha sobre a superfície. A imobilidade e a tensão tinham-na debilitado muito, mas mantinha-se consciente e ainda falava com voz perceptível quando lhe aproximaram um microfone. O tom de voz era humilde, como se estivesse pedindo perdão por causar tantas moléstias. Rolf Carlé tinha a barba crescida e olheiras, parecia esgotado. Mesmo a essa enorme distância pude perceber a qualidade desse cansaço, diferente de todas as fadigas anteriores da sua vida. Tinha esquecido por completo a câmara, já não podia olhar a menina através de uma lente. As imagens que nos chegavam não eram do seu assistente, mas de outros jornalistas que se tinham apoderado de Açucena atribuindo-lhe a patética responsabilidade de encarnar o horror do acontecido naquele lugar. Logo a partir do amanhecer, Rolf Carlé esforçou-se de novo para mover os obstáculos que retinham a rapariga naquela tumba, mas usava só as mãos, não se atrevia a utilizar uma ferramenta, porque podia feri-la. Deu a Açucena a chávena de papa de arroz e banana que o Exército distribuía, mas ela vomitou imediatamente. Acudiu um médico e comprovou que estava com febre, disse que não se podia fazer muito, os antibióticos estavam reservados para os casos de gangrena. Também se aproximou um sacerdote para a benzer e pendurar-lhe uma medalha da Virgem ao pescoço. à tarde começou a cair uma chuvinha suave, persistente.
- O céu está a chorar-murmurou Açucena e pôs-se a chorar também.
- Não te assustes - suplicou-lhe Rolf. - Tens de reservar as tuas forças e manter-te tranquila, tudo acabará bem, eu estou contigo e vou-te tirar daqui de qualquer maneira.
Voltaram os jornalistas para a fotografar e perguntar-lhe as mesmas coisas, que ela já nem conseguia responder. Entretanto, chegavam mais equipas de televisão e cinema, rolos de cabos, cintos, películas, vídeos, lentes de precisão, gravadores, consolas de som, luzes, reflectores, baterias e motores, caixas com provisões, electricistas, técnicos de som e operadores de câmara, que mandaram o rosto de Açucena para milhões de ecrãs em todo o mundo. E Rolf Carlé continuava a pedir a sua bomba. O desdobramento de recursos deu resultado e na Televisão Nacional começámos a receber imagens mais claras e sons mais nítidos, a distância pareceu encurtar-se subitamente e tive a sensação atroz de que Açucena e Rolf se encontravam a meu lado, separados de mim por um vidro irredutível. Pude seguir os acontecimentos de hora a hora, soube quanto o meu amigo fez para arrancar a menina à sua prisão e para a ajudar a suportar o seu calvário, ouvi fragmentos do que disseram e o resto pude adivinhá-lo, estive presente quando ela ensinou Rolf a rezar e quando ele a distraiu com os contos que eu lhe contei em mil e uma noites debaixo do mosquiteiro branco da nossa cama.
Ao cair a noite do segundo dia ele procurou fazê-la dormir com velhas canções da Áustria aprendidas com a sua mãe, mas ela estava para lá do sono. Passaram grande parte da noite a falar, os dois extenuados, esfomeados, sacudidos pelo frio. E então, pouco a pouco, caíram as firmes comportas que seguraram o passado de Rolf Carlé durante muitos anos, e a torrente de tudo quanto tinha ocultado nas camadas mais profundas e secretas da memória saiu por fim, arrastando na sua passagem os obstáculos que durante tanto tempo bloquearam a sua consciência.
Nem tudo pôde dizer a Açucena, ela talvez não soubesse que havia mundos mais para lá do mar, nem tempo anterior ao seu, era incapaz de imaginar a Europa na época da guerra, por isso não lhe contou a derrota, nem a tarde em que os Russos o levaram para o campo de concentração para enterrar os prisioneiros mortos de fome. Para quê explicar-lhe que os corpos nus, empilhados como um monte de paus, pareciam de loiça quebradiça? Como falar-lhe dos fornos e das forcas, àquela menina moribunda? Nem mencionou a noite em que viu a mãe nua, calçada com sapatos vermelhos de salto de agulha, chorando de humilhação. Muitas coisas calou, mas naquelas horas reviveu pela primeira vez tudo aquilo que a sua mente tinha tentado apagar. Açucena entregou-lhe o seu medo e assim, sem querer, obrigou Rolf a encontrar-se com o seu. Ali, junto daquele poço maldito, foi impossível para Rolf continuar a fugir de si mesmo e o terror visceral que marcou a sua infância assaltou-o de surpresa. Recuou até à idade de Açucena e mais atrás, e encontrou-se como ela apanhado num poço sem saída, enterrado em vida, a cabeça rente ao chão, viu junto à sua cara as botas e as pernas do pai, que tinha tirado o cinto e o agitava no ar com um silvo inesquecível de víbora furiosa. A dor invadiu-o, intacto e preciso, como sempre esteve escondida na sua mente. Voltou ao armário onde o pai o punha fechado à chave para o castigar por faltas imaginárias e ali esteve duas eternas horas com os olhos fechados para não ver a escuridão, os ouvidos tapados com as mãos para não ouvir os latidos do seu próprio coração, tremendo, encolhido como um animal. Na neblina das recordações encontrou a sua irmã Katharina, uma doce criança atrasada que passou a existência escondida com a esperança de que o pai esquecesse a desgraça do seu nascimento. Arrastou-se até ela debaixo da mesa da casa de jantar e ali ocultos por uma grande toalha branca, os dois meninos permaneceram abraçados, atentos aos passos e às vozes.
O cheiro de Katharina chegou-lhe misturado com o do seu próprio suor, com os aromas da cozinha, alho, sopa, pão saído do forno e um fedor estranho de barro apodrecido. A mão da irmã na sua, a sua respiração assustada, o roçar do seu cabelo selvagem na sua face, a expressão cândida do seu olhar.
Katharina, Katharina... surgiu em frente de si flutuando como uma bandeira, envolta na toalha branca transformada em mortalha, e pôde por fim chorar a sua morte e a culpa de tê-la abandonado. Compreendeu então que as suas façanhas de jornalista, aquelas que tantos reconhecimentos e tanta fama lhe tinham dado, eram só uma tentativa de manter sob controlo o seu medo mais antigo, mediante a aldrabice de se refugiar atrás de uma lente para ver se assim a realidade lhe parecia mais tolerável. Enfrentava riscos desmesurados como exercício de coragem, treinando-se de dia para vencer os monstros que o atormentavam de noite. Mas tinha chegado o momento da verdade e já não pôde continuar a fugir ao seu passado. Ele era Açucena, estava enterrado no barro, o seu terror não era a emoção remota de uma infância quase esquecida, era uma garra na garganta. No sufoco do pranto apareceu-lhe a mãe, vestida de cinzento, com a sua carteira de pele de crocodilo apertada contra o regaço, tal como a vira pela última vez no cais, quando foi despedir-se ao navio em que ele embarcou para a América. Não vinha secar-lhe as lágrimas, mas dizer-lhe que pegasse numa pá, porque a guerra terminara e agora tinham de enterrar os mortos.
- Não chores. já não me dói nada, estou bem - disse-lhe Açucena ao amanhecer.
- Não choro por ti, choro por mim, que me dói tudo - sorriu Rolf Carlé.
No vale do cataclismo começou o terceiro dia com uma luz pálida entre nuvens carregadas. O Presidente da República fez-se transportar à zona e apareceu em traje de campanha para confirmar que era a pior desgraça do século. O país estava de luto, as nações irmãs tinham oferecido ajuda, ordenava-se o estado de sítio, as Forças Armadas seriam Inciementes, fuzilariam sem mais nada quem fosse surpreendido a roubar ou a cometer outras malfeitorias. Acrescentou que era impossível tirar todos os cadáveres nem dar conta dos milhares de desaparecidos, por isso se declarava todo o vale campo santo e os bispos viriam celebrar uma missa solene pelas almas das vítimas. Dirigiu-se às tendas do Exército, onde se amontoavam os que tinham sido salvos, para lhes dar o alívio de promessas incertas, e ao improvisado hospital, para dar uma palavra de ânimo aos médicos e enfermeiras, esgotados por tantas horas de penúria. Depois fez-se conduzir ao lugar onde estava Açucena, que então já era célebre, porque a sua imagem tinha dado volta ao planeta. Saudou-a com a lânguida mão de estadista e os microfones registaram a sua voz comovida e o acento paternal, quando lhe disse que o seu valor era um exemplo para a pátria.
Rolf Carlé interrompeu-o para lhe pedir uma bomba e ele assegurou-lhe que se ocuparia do assunto pessoalmente.
Consegui ver Rolf por uns instantes, de cócoras junto ao poço.
No noticiário da tarde encontrava-se na mesma postura: e eu, olhando a tela como uma adivinha olha a sua bola de cristal, percebi que algo fundamental tinha mudado, nele, adivinhei que durante a noite se tinham desmoronado as suas defesas e se entregara à dor, vulnerável, finalmente. Aquela menina tocou a parte da sua alma a que ele próprio não tivera acesso e que nunca partilhara comigo. Rolf quis consolá-la e foi Açucena quem o consolou.
Dei-me conta do momento preciso em que Rolf deixou de lutar e se abandonou ao tormento de vigiar a agonia da rapariga. Eu estive com eles, três dias e duas noites, espiando-os do outro lado da vida. Encontrava-me ali quando ela lhe disse que nos seus treze anos nunca um rapaz tinha gostado dela e que era pena ir-se embora deste mundo sem conhecer o amor, e ele assegurou-lhe que a amava mais do que poderia amar alguém, mais que à sua mãe e à sua irmã, mais que a todas as mulheres que tinham dormido nos seus braços, mais que a mim, sua companheira, e que daria qualquer coisa para estar apanhado naquele poço em seu lugar, que trocaria a sua vida pela dela, e vi como se inclinou sobre a sua pobre cabeça e a beijou na testa, vencido por um sentimento doce e triste que não sabia nomear. Senti como nesse instante se salvaram ambos do desespero, se desprenderam do lodo, se elevaram por cima dos abutres e dos helicópteros e voaram juntos sobre aquele vasto pântano de podridão e lamentos. E, finalmente, puderam aceitar a morte. Rolf Carlé rezou em silêncio para que ela morresse depressa, porque já não era possível suportar tanta dor.
Então eu já tinha conseguido uma bomba e estava em contacto com um general disposto a enviá-la na madrugada do dia seguinte num avião militar. Mas ao anoitecer daquele terceiro dia, debaixo das implacáveis lâmpadas de quartzo e das lentes de cem máquinas, Açucena rendeu-se, os seus olhos perdidos nos daquele amigo que a tinha ajudado até ao fim. Rolf Carlé tirou-lhe o salva-vidas, fechou-lhe as pálpebras, segurou-a apertada contra o seu peito por uns minutos e depois soltou-a.
Ela afundou-se lentamente, uma flor no barro.
Estás de volta junto de mim, mas já não és o mesmo homem. Vou contigo muitas vezes ao Canal e vemos de novo os vídeos de Açucena, tu os estudas com atenção, procurando algo que pudesses ter feito para a salvar e não te ocorreu a tempo. Ou talvez os examines para te veres como num espelho, a nu. As tuas câmaras estão abandonadas num armário, não escreves nem cantas, ficas durante horas sentado em frente da janela olhando as montanhas. A teu lado, eu espero que completes a viagem até ao interior de ti mesmo e te cures das velhas feridas. Sei que quando regressares dos teus pesadelos caminharemos outra vez de mão dada, como dantes.
"E nesse momento da sua narração, Xehrazade viu aparecer a manhã e calou-se discretamente."
Isabel Allende
O melhor da literatura para todos os gostos e idades















