



Biblio VT

Series & Trilogias Literarias




Pioneiros nas Terras do Norte
A recolonização do noroeste da Europa,
20.000 – 12.700 a.C.
A chacina de corpos humanos. Uma lâmina de sílex corta fatias da carne e tendões, primeiro removendo o maxilar inferior e depois a língua de um rapaz. Outro foi escalpelado. Um terceiro corpo jaz nu, de bruços, numa poça de sangue, as costas abertas ao meio e rasgadas por instrumentos de pedra. O luar brilha na caverna, iluminando os caçadores vestidos de peles e manchados de sangue que brandem os instrumentos. Acocorado dentro de um escuro recesso, John Lubbock tem tanto medo de estar ali quanto de sair.
É a Caverna Gough, no sul da Inglaterra, numa noite de outono em 12.700 a.C. Do lado de fora, os penhascos de calcário do futuro Desfiladeiro de Cheddar, e além, uma paisagem varrida pelo vento, com bétulas cintilando no gelado ar da noite. Os homens são caçadores da era glacial — pioneiros nas terras do norte da Europa, depois que o grande congelamento da era do gelo chegou ao fim. Lubbock rasteja despercebido pelos caçadores, cujos rostos curtidos pelo tempo se escondem atrás de cabelos compridos e barbas emaranhadas.
Ao avançar pelo desfiladeiro, ele arrepia-se no enregelante ar noturno; o mato range, surge uma nuvem a cada respiração. O silêncio é profundo, o ar perfumado de pinho. Agora ele precisa retomar suas viagens, pois mais uma fatia da história o aguarda, um período de importante mudança, quando a Europa se transforma num continente de florestas e agricultores.
Após minha última visita à Caverna Gough, na primavera de 2.000 a.C., tomei uma trilha de concreto sob quentes lâmpadas elétricas até uma loja de suvenires que vendia mamutes e dinossauros de plástico. Do lado de fora, outros visitantes pagavam e entravam na caverna, passando por uma catraca. Estavam ávidos por ver estalactites e rios subterrâneos; alguns esperavam ver os morcegos residentes. Poucos sabiam da carnificina humana que um dia ocorrera dentro da caverna.
Para mim, a Caverna Gough fora um lugar de interesse ao mesmo tempo histórico e arqueológico — uma das primeiras localidades onde arqueólogos do século XIX encontraram traços de um passado da era glacial. Pelos padrões de hoje, as primeiras escavações foram inteiramente estarrecedoras, e na certa destruíram mais provas do que recuperaram. Não deixaram mais que pequenas migalhas de sedimentos para os arqueólogos atuais, que hoje complementam suas pás e enxadas com uma bateria de técnicas científicas. Em 1986, Roger Jacobi, especialista em ocupação da era glacial na Grã-Bretanha, escavou uma dessas migalhas. Num pequeno depósito perto da entrada da caverna, encontrou instrumentos, restos de animais esquartejados e 120 pedaços de ossos humanos.
Jill Cook, do Museu Britânico, examinou os ossos e descobriu que tinham fortes incisões. Sob um microscópio de alta potência, constatou que esses sulcos continham reveladores arranhões paralelos — prova conclusiva de que tinham sido feitos por instrumentos de pedra. A posição e sentido de cada corte indicavam quais músculos tinham sido cortados e exatamente como os corpos de quatro adultos e um adolescente separados.
Canibalismo parece a explicação mais provável. Alguns dos ossos com marcas de cortes estavam queimados, sugerindo que a carne humana fora assada e comida. Tinham sido jogados fora nos entulhos da ocupação, entre ossos de animais e instrumentos quebrados. Podemos apenas especular se as vítimas foram deliberadamente mortas ou morreram de causas naturais. Os ossos de animais da Caverna Gough nos dizem que também ocorreu outra atividade: a remoção de tendões dos ossos de cavalos, provavelmente para serem usados como cordas e fios na costura de sapatos e roupas. E assim encontramos um quadro de domesticidade mundana lado a lado com carnificina humana.
A Caverna Gough é apenas um dos vários sítios arqueológicos na Europa que oferecem provas da recolonização de paisagens do norte ao chegar ao fim a era glacial. Essas paisagens tornaram-se desertos polares quando a era glacial atingiu o auge no LGM, abandonadas não apenas por pessoas, mas pelos mais resistentes animais e plantas. É com a recolonização dessas terras que a história da Europa deve começar, uma história de 15 mil anos, que dura até a chegada de uma segunda leva de migrantes — os primeiros agricultores. Mas esses agricultores continuam muito distantes no tempo, pois começamos no LGM, quando a agricultura continuava quase desconhecida em todo o mundo e o norte da Europa era uma terra de geleiras, deserto polar e tundra.
A história de como isso foi devolvido ao domínio da experiência humana começa no sul, onde os povos sobreviveram aos extremos da era glacial. Eles tinham-se assentado nos vales do sul da França e da Espanha, vivendo da caça de rena, cavalo e bisão. Seus invernos eram rigorosos, com temperaturas caindo a menos de 20ºC. Embora se tivesse criado uma arte admirável, como as pinturas no interior de Pech Merle, as pessoas ficavam muitas vezes desesperadas por comida e tinham de quebrar até os mínimos ossos da rena para retirar as migalhas internas de tutano.
O John Lubbock vitoriano visitara várias cavernas no sul da França e escrevera sobre elas em Tempos pré-históricos. Viajara com seus dois amigos e colegas, o grande arqueólogo francês Edouard Lartet e o banqueiro inglês Henry Christy, que financiou o trabalho de Lartet. Em 1865, muitos ainda questionavam a antigüidade humana e recusavam-se a acreditar que os europeus tinham vivido como "selvagens". O Lubbock vitoriano reconheceu que os ossos de rena encontrados por Lartet forneciam provas cruciais. Não apenas se misturavam com alguns artefatos, mas muitos ainda conservavam marcas de corte de facas de sílex.
O Lubbock vitoriano entusiasmou-se com a beleza da paisagem francesa, em especial o vale Vézère, onde se descobriram várias cavernas. Os habitantes da tundra da era glacial também deviam encontrar generosa compensação para as adversidades hibernais na beleza de seu mundo, com os rebanhos de bisão, cavalo e gamo, o errante mamute e o rinoceronte peludo, com vislumbres de ursos e leões, revoadas de gansos e cisnes. François Bordes, outra figura fundamental na arqueologia francesa, que nas décadas de 1950 e 1960 retomou a obra pioneira de Lartet, descreveu com muito acerto a tundra como uma Serengeti da era glacial. Após as demandas do inverno, vinha o espetáculo anual da primavera.
Os primeiros sinais do degelo anual teriam sido observados com entusiasmo por eles e comemorados em sua arte. Num dia, por volta de 15.000 a.C., um anônimo gravou inúmeras imagens na superfície de um osso — um salmão desovando, duas focas, enguias despertando da hibernação, botões de flores: uma invocação da primavera, depois perdida ou jogada fora no sítio de Montgaudier, na França.
Embora nenhuma das pinturas da era glacial tivesse sido descoberta em 1865, o John Lubbock vitoriano conseguiu descrever algumas gravações rupestres nas páginas de Tempos pré-históricos. A arte do período glacial representou um desafio para os que acreditavam que os homens pré-históricos eram selvagens com mentes infantis. O Lubbock vitoriano foi mais generoso que a maioria; escreveu que é "natural sentir uma certa surpresa ao descobrir essas obras de artes", e afirma em seguida, com relutância, que "devemos dar-lhes crédito total por seu amor pela arte, a que tinha". Mas logo se seguiam declarações de que os homens das cavernas eram apesar disso muito ignorantes de agricultura, animais domésticos e metalurgia. O paradoxo com o qual ele lutava, o selvagem de refinado talento artístico, atingiria um ponto de ruptura em poucos anos: em 1879, uma menina correu gritando ao pai sobre touros — era a descoberta de pinturas na Gruta de Altamira.
O mundo de artistas da era glacial passou a mudar logo depois de 18.000 a.C. As temperaturas globais começaram a subir e as camadas de gelo do norte a derreter. Em 14.000 a.C., as geleiras tinham desaparecido do norte da Alemanha e retiravam-se na Escandinávia e Grã-Bretanha. Os artistas e caçadores no sul sentiram e viram em primeira mão os efeitos do aquecimento global, sem saber que as mudanças por eles observadas — luxuriante brotar da mata, tempos prematuros de nidificação dos pássaros, nevadas reduzidas — eram os arautos de uma nova era na história climática e, na verdade, humana. Revemos no passado esses povos da era glacial com o conhecimento do que guardava seu futuro — 10 mil anos de drástica mudança climática. Embora a tendência fosse de condições mais quentes, foi um passeio de montanha-russa, com imensos altos e baixos na temperatura. Mas claro que esses excessivos vaivéns, picos e quedas de temperatura que vemos registrados nos núcleos glaciais extraídos da Groenlândia e Antártida pouco nos dizem de como as paisagens evoluíram, e menos ainda da natureza da experiência humana. Para isso, precisamos recorrer a testemunhos da própria Europa, sobretudo dos sedimentos recolhidos dentro de suas cavernas e depositados em seus antigos lagos.
Vimos o valor dos grãos de pólen quando acompanhamos a história da mudança de paisagens no oeste da Ásia, registrada por indícios no núcleo da bacia do Hula. Na Europa, os minúsculos grãos de pólen registram a migração vegetal e o surgimento de florestas ao longo do que fora outrora a árida tundra próxima das próprias geleiras. É uma história criada pelas sementes e esporos de plantas transportados para o norte no vento, em penas e pêlos, patas e fezes de aves e animais. Algumas dessas plantas — as mais tolerantes a condições que continuaram frias e secas — descobriram que podiam sobreviver, e até prosperar, onde não muito tempo antes jazeriam congeladas e inúteis no solo.
À medida que essas pioneiras vegetais foram-se estabelecendo, encorajaram outros pássaros e animais a aventurar-se ao norte. Também ajudaram a desenvolver novo solo, que foi avidamente usado por um novo grupo de plantas, capaz de colonizar devido ao aumento de calor e chuva. Esses recém-chegados competiam ferozmente pela luz do sol e nutrientes, empurrando aos poucos os colonos originais para o norte, para outras terras recém-libertadas do jugo da glaciação da era do gelo.
Por volta de 15.000 a.C., matos e arbustos tinham-se apoderado das colinas ondulantes do centro da Europa, com destaque para as espécies do gênero artemísia (arbusto espinhoso à altura dos joelhos). Uma aceleração em sua disseminação assinala o início da primeira fase quente importante na história do aquecimento global, o Bolling. É o drástico pico visto no registro do núcleo glacial em 12.500 a.C., e assinala a data na qual os coletores-caçadores do Natufiano Inicial no mundo mais quente e exuberante do oeste da Ásia se assentaram num estilo de vida sedentário. Na Europa, o Bolling resultou na dispersão de bétulas pelo norte da tundra e no desenvolvimento de bosques de pinheiros e bétulas mais ao sul e nos vales abrigados.
Os grãos de pólen mostram que se seguiu um hiato, e em algumas áreas o contrário, na disseminação de florestas. Em 11.500 a.C., porém, completas florestas de bétula, choupo e pinheiro tinham penetrado no norte da Alemanha, Grã-Bretanha e sul da Escandinávia. Em algumas regiões, isso é identificado com uma segunda fase particularmente quente chamada Allerod, o pico final de mudança climática antes do começo do Jovem Dryas em 10.800 a.C.
Os grãos de pólen registram um arrefecimento de mil anos nas condições árticas por uma nova predominância de gramíneas, arbustos e apenas as árvores mais resistentes — as paisagens do norte mais uma vez se tinham tornado tundra descampada, com bosques de bétula e pinheiro lutando pela sobrevivência contra todas as probabilidades. Os pastos teriam sido pontilhados com delicadas florzinhas brancas, ninfas do bosque, avenas das montanhas, conhecidas pelos botânicos como Dryas octopetala — de onde vem o nome Jovem Dryas. E então, muito de repente em 9.600 a.C., o pólen de árvore ressurge mais uma vez; logo se torna abundante, ao mesmo tempo que o norte da Europa é coberto por densa terra florestal, quando o drástico aquecimento global encerra a era de gelo.
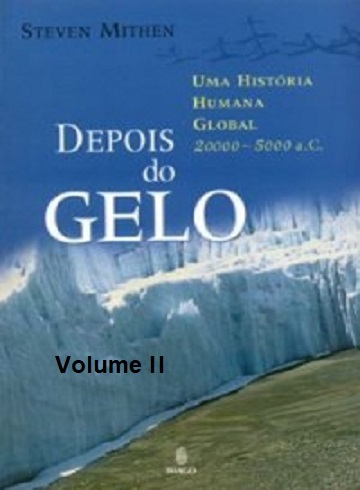
Os grãos de pólen muito nos podem dizer: como as paisagens mudaram, quais plantas, árvores as pessoas viam c queimavam em suas fogueiras enquanto se aventuravam ao norte. Mas para uma verdadeira apreciação de como talvez fossem esses caçadores e coletores da era glacial, os arqueólogos precisam voltar-se para outro tipo de pioneiro: os besouros.
A maioria dos besouros parou de evoluir há mais de um milhão de anos. Em conseqüência, podemos ter certeza de que as espécies identificadas segundo as particularidades das patas, asas e antenas em depósitos antigos são exatamente as mesmas que vivem hoje. Isto é importante, porque muitas espécies são bastante sensíveis à temperatura do ar e vivem em tipos de clima muito específicos. Vejam, por exemplo, o besouro conhecido como Boreaphilus henningianus. Hoje estão limitados ao norte da Noruega e Finlândia, pois sobrevivem apenas no extremo frio. Mas encontram-se seus restos em depósitos por toda a Grã-Bretanha, indicando temperaturas tão frias quanto as do Ártico atual.
Os restos de besouro da Grã-Bretanha são os mais bem estudados de qualquer lugar no mundo. Conhecem-se mais de 350 espécies, das quais foram recolhidas precisas estimativas de temperaturas passadas. Os besouros nos dizem, por exemplo, que as temperaturas de inverno do LGM no sul da Grã-Bretanha atingiam rotineiramente menos 16ºC e subiam até 10°C no verão. Quando a fase quente do Bolling chegou a 12.500 a.C., os besouros na Grã-Bretanha eram muito semelhantes ao que são hoje, indicando que as temperaturas de inverno e verão também eram muito semelhantes, 0-1ºC e 17°C respectivamente. Mas depois as espécies do frio passaram a predominar, indicando uma substancial queda de temperaturas invernais para menos 0-5°C em 12.000 a.C. e menos 17°C em 10.500 a.C., a última correspondendo nitidamente ao período do Jovem Dryas, como se vê nos núcleos glaciais da Antártida e Groenlândia.
Os besouros podem ser muito preciosos, mas dificilmente nos permitem visualizar as paisagens pré-históricas da Europa da era glacial. Para isto, os ossos de animais são muito mais úteis — pois, assim que se recorre aos mamutes, renas e javalis, essas paisagens tornam-se vivas. Os ossos de animais são encontrados sobretudo em depósitos de cavernas, como os de hipopótamos da Gruta Aetokremnos, em Chipre. Alguns são de animais que viveram e morreram dentro das cavernas, como hienas e ursos. Outros são presa de carnívoros — comida levada para alimentar os filhotes ou ser ingerida em segurança — enquanto os ossos de pequenos mamíferos chegaram via fezes em ninhos de corujas, Assim que os seres humanos apareceram, usaram as cavernas para abrigo e jogaram fora dentro delas os ossos de animais que matavam ou dos quais haviam comido a carniça nas carcaças.
Os ossos de animais — qualquer que seja sua origem — revelam-nos muito sobre a mudança nos ambientes da Europa. Como acontece com os besouros, os mamíferos são conhecidos por preferirem diferentes tipos de habitats — a rena gosta de tundra fria, o veado-vermelho prefere florestas mais temperadas. E assim, distribuindo as coleções de ossos numa seqüência ordenada através do tempo, podemos reconstituir as comunidades animais em mutação, e portanto os meios ambientes, da Europa.
Muito poucas cavernas, porém, têm longas seqüências de depósitos. Por isso, precisamos reunir coleções de ossos de diferentes cavernas se quisermos reconstituir vários milhares de anos de mudança climática. Jean-Marie Cordy, da Universidade de Liège, realizou um estudo desses. Examinou os ossos de animais recuperados durante mais de 100 anos de escavação em grutas na região calcária da bacia do Meuse, na Bélgica.
Cordy construiu uma seqüência vaivém de depósitos de 15.000 a 9.000 a.C., Constatando que nos datados de antes de 14.500 a.C. os ossos de rena e boi almiscarado eram dominantes — animais da tundra. De 14.500 a.C. em diante, juntaram-se a eles os restos de espécies de florestas e pastos, como cavalo, veado-vermelho e javali. Estes passaram a dominar as coleções de ossos a partir de 12.500 a.C., o que coincide com a fase Bolling — época em que a rena foi obrigada a viajar para o norte, a fim de encontrar seus apreciados líquen e tundra coberta de musgo.
No conjunto seguinte de coleções de ossos das cavernas belgas, a rena mais uma vez torna-se abundante, refletindo uma queda de temperatura e o ressurgimento da tundra. Esse vaivém entre animais amantes do calor e do frio continuou enquanto o clima global ia mudando no Allerod, Jovem Dryas, e por fim no aquecimento global, que acabou com a era glacial há 9.600 anos.
Usar os ossos de grandes mamíferos para mapear a mudança de ambientes da Europa é às vezes problemático. Encontrados muitas vezes em pequenos números, algumas espécies, como o veado-vermelho, são muito adaptáveis — sentem-se à vontade tanto em pastagens abertas quanto em matas densas. Além disso, alguns desses ossos talvez tenham percorrido consideráveis distâncias antes de tornarem-se detritos dentro de uma caverna: animais carnívoros e seres humanos podem ter grandes territórios de caça e levar para casa animais muito diferentes dos da vizinhança imediata de seu covil ou lugar de acampamento. Em conseqüência, os ossos dos pequenos mamíferos encontrados dentro de sedimentos de caverna oferecem um índice melhor de mudança climática — pois são em geral mais numerosos, as espécies mais sensíveis às condições ambientais, e poucos percorrem grandes distâncias em suas curtas vidas.
Um dos mais úteis é o lêmingue-do-ártico — os picos e quedas na quantidade de seus ossos são quase tão bons quanto a própria medição da temperatura. Vejam por exemplo a gruta de Chaleux, no vale do Meuse, na Bélgica. Antes de 13.000 a.C., quase todos os ossos de pequenos mamíferos nos depósitos são de lêmingues-do-ártico, o que significa uma paisagem de tundra muito fria. Eles são substituídos por outras espécies roedoras — preá do norte, arganaz e até o hamster — que exigem condições muito mais quentes e úmidas, e em geral habitam florestas. Sua abundância nos sedimentos de Chaleux assinala o início do Bolling. Durante os mil anos seguintes, os lêmingues e os roedores amantes do calor ficam mudando de lugares como a maioria das espécies abundantes — um reflexo direto das flutuações climáticas pouco antes do desastre ambiental do Jovem Dryas, assinalado pelo desaparecimento de todos os roedores florestais.
Grãos de pólen, patas de besouro, ossos de animais — é a partir do seu estudo que se reconstituem os ambientes das terras do norte. Cientistas que trabalham em laboratórios estéreis, redigindo relatórios técnicos sobre aspectos específicos do passado, fazem esse trabalho. O desafio que enfrentamos ao escrever história, porém, não é apenas combinar essas fontes de indícios para podermos imaginar comunidades de plantas, animais e insetos concretos, mas também obter uma compreensão da experiência daqueles que primeiro entraram e depois se tornaram parte dessas comunidades. As relações de plantas e animais são um pobre substituto para o cheiro de agulhas de pinheiro e o gosto de carne de gamo assada sob as estrelas; um relatório sobre restos de insetos não pode evocar o zumbido e a picada de uma mutuca; estimativas de temperaturas invernais não transmitem a dor entorpecente de pés congelados cobertos de pele animal que caminharam pela neve e atravessaram rios gelados. Felizmente essas sensações estão ao nosso alcance: para ser um bom pré-historiador, é necessário não apenas ler os relatórios técnicos que emanam da ciência arqueológica, mas seguir caminhando c imergir no mundo natural, avançando aos poucos para mais perto da experiência do caçador-coletor.
É exatamente isso que John Lubbock vem fazendo desde que saiu da Caverna Gough. Rumou para o norte, percorrendo 150 quilômetros de colinas ondulantes e planícies; as árvores foram tornando-se esparsas e o vento persistente quando se aproximou da grande camada de gelo. Viu poucas pessoas enquanto atravessava a tundra — um grupo de caçadores de rena ao longe, desaparecendo na neblina, algumas famílias que se dirigiam para o sul, talvez para a própria caverna Gough.
Quando descansa, ou é obrigado a abrigar-se, Lubbock lê Tempos pré-históricos, para descobrir o que seu xará de 1865 sabia sobre o uso de ossos de animais e plantas para reconstituir ambientes passados. É evidente que o vitoriano Lubbock sabia que alguns animais forneciam clara indicação de clima frio, c chegou até a apontar o lêmingue como uma espécie particularmente reveladora, quando o encontrou em depósitos de cavernas ou fluviais. Não fez menção alguma a grãos de pólen, mas disse que os pântanos de turfa na Dinamarca muitas vezes têm camadas de pinheiro perto da base, seguidas por carvalho e salgueiro — árvores que julgou terem crescido em volta da margem e tombado, "Para uma espécie de árvore assim deslocar outra", escreveu, "e por sua vez ser suplantada por uma terceira, seria necessário um grande período de tempo, mas, por enquanto, não temos meios de calcular."
Em outras partes, o vitoriano John Lubbock fora igualmente cauteloso em relação a estimativas de temperaturas passadas. Ao comentar a proposta de um certo Sr. Prestwich, de que as temperaturas haviam outrora chegado a mais de 29ºC abaixo de zero, escreveu: "Dificilmente estamos em condições de avaliar com qualquer grau de probabilidade a verdadeira extensão da mudança ocorrida." Como a datação por radiocarbono, tão útil para estabelecer o lapso de tempo entre um e outro tipo de vegetação, a paleontomologia — estudo de besouros e outros insetos de depósitos antigos — ainda não fora criada.
Quando não lê, o moderno John Lubbock fica alerta às pessoas, e por sua vez é vigiado por animais na tundra. Ao atravessar o terreno congelado, vê uma coruja branca real empoleirada numa moita virar a cabeça para fixá-lo em seu olhar. Uma lebre-do-ártico ergue-se então e faz o mesmo. Mais um momento, e a tensão se quebra — a coruja silenciosamente deixa seu poleiro e mergulha baixo sobre o mato, a lebre afunda de novo e some de vista. Lubbock segue andando.
A não mais que um dia de caminhada das geleiras, chega a outro desfiladeiro calcário, hoje conhecido como Creswell Crags. É o amanhecer de um dia de Inverno em 12.700 a.C., e ele está de pé na borda do penhasco sul, olhando embaixo os pinheiros e salgueiros que encontraram abrigo na garganta. Os lados são salpicados de fissuras e cavernas. Fiapos de fumaça serpeiam por entre as árvores; remontando à sua origem, Lubbock localiza uma fogueira que fumega na boca de uma caverna.
Um grito atrai seu olhar para um homem e um garoto que entram na garganta. Vestidos de peles, cada um traz duas lebres brancas como a neve jogadas nos ombros; o vigor nos passos sugere que estão satisfeitos com a caçada. Lubbock os vê subir a encosta coberta de seixos em direção à caverna e jogar suas presas perto da fogueira. Mulheres e crianças surgem excitadas de dentro da caverna; admiram as lebres, acariciando o pêlo e beliscando as coxas dos animaizinhos para sentir a carne.
Depois que desceu o penhasco pouco profundo, Lubbock transpôs o desfiladeiro e juntou-se a eles perto da fogueira, uma lâmina de pedra já removera as patas frontais e fendera a barriga da lebre maior. As patas frontais são removidas e a pele é arrancada para trás, para ser retirada pela cabeça do animal. Alguns minutos depois, a carcaça está num espeto sobre o fogo, a pele pendurada com as outras lebres dentro da caverna.
Uma vez assada, a lebre é cortada em postas que serão divididas entre todos os presentes — exceto, claro, John Lubbock. Contudo, ele consegue comer uns restinhos, que proporcionam um desjejum profundamente satisfatório. Depois que todos os ossos foram mastigados e estão bem limpos, são reunidos e enterrados num poço raso na entrada da caverna; se deixados expostos, iriam atrair hienas e raposas que se alimentam de carniça e restos de animais.
Lubbock permanece com essas pessoas durante os dias seguintes, na expectativa de uma oportunidade de caça graúda — uma das renas, cavalos e até mamutes que ele viu enquanto viajava para o norte. Mas não ocorrem essas caças, pois as lebres são a única presa que os homens trazem. E assim, em vez de aprender como matar feras poderosas, Lubbock adquire algumas práticas de sobrevivência menos másculas, porém muito mais importantes: como extrair músculos de uma lebre para usá-los como fio de costura, transformar os ossos das patas em sovelas e agulhas, fazer meias, luvas, regalos e revestimento de casaco com a pele.
Uma noite ele segue um homem e um jovem até um denso bosque de salgueiros enfezados onde se sabe que as lebres se alimentam. O homem inspeciona as folhas mastigadas e os talos de mato quebrados pelas lebres deitadas. Parte um galho, desfolha-o e enterra-o no chão. Amarra então nele um laço que é posto no lugar exato onde desconfia que vai ocorrer o próximo período de alimentação. Ao amanhecer, a dupla retorna e encontra uma lustrosa lebre branca capturada no laço corrediço, estendida exausta de sua luta, mas ainda viva. O homem suspende-a delicadamente, acaricia seu pêlo e sussurra-lhe palavras amáveis no ouvido. Depois quebra-lhe o pescoço.
Lubbock deixa o que virá a ser conhecido como a Caverna de Robin Hood em Creswell Crags. Ruma para leste; aguarda-o uma jornada por baixadas cobertas de tundra, que o levará pelas colinas suavemente onduladas e os vales de uma terra que não mais existe — Doggerland, hoje submersa pelas águas do mar do Norte. Além dela, chegará no norte da Alemanha, e ali se realizará seu desejo de ver em ação caçadores da era do gelo com caças maiores.
Creswell Crags encontra-se hoje no meio de uma decadente conurbação industrial, paisagem que não podia deixar de ser mais diferente da beleza da tundra glacial. A garganta não tem mais de 100 metros de comprimento e 20 de largura; suas cavernas ostentam nomes maravilhosos: Caverna de Robin Hood, Salão de Mãe Grundy, Caverna do Buraco de Alfinete. Outrora eram cheias de sedimentos contendo os restos de animais que viveram e morreram na tundra. Lobos, hienas, raposas e ursos usavam-nas como covis, arrastando para casa os restos de suas presas: rena, cavalo, veado-vermelho, lêmingues e uma ampla série de pássaros. Mamíferos menores, morcegos e corujas também tinham vivido e morrido dentro dessas fragas, tornando-as um precioso tesouro para os que desejam reconstituir comunidades animais do mundo antigo.
Na Caverna Gough, as primeiras escavações em Creswell ocorreram em fins do século XIX, sob o comando do Reverendo J. Magens Mello, e depois continuaram periodicamente até hoje. Em 1977, John Campbell sintetizou todas as datas que se tinham acumulado e atribuiu a presença de ossos de animais a atividades humanas, sobretudo das pessoas que chegaram aos rochedos nos últimos anos da era glacial. Segundo ele, esses pioneiros do norte não apenas caçavam rena e cavalo, mas também matavam mamute e rinoceronte. Estudos recentes e meticulosos, porém, identificaram quais ossos trazem as marcas de corte reveladoras de instrumentos de pedra e quais de roedura de dentes carnívoros. Esse trabalho reduziu a atividade humana à tarefa mais modesta de pegar lebres-do-ártico com armadilhas.
Todos os ossos com marca de cortes foram datados de um estreito período de tempo em torno de 12.700 a.C. — com datas de radiocarbono tão semelhantes às da Caverna de Gough que podemos estar tratando com o mesmo período.
Todos os ossos com marcas de corte podem nos dizer mais que apenas o que outrora comiam as pessoas e quais animais viviam antes na Europa da era do gelo: podem nos dizer ainda exatamente quando as pessoas começaram a espalhar-se pelo norte, vindas de seus refúgios no sul. Os instrumentos em si são pouco úteis — feitos de pedra, falta-lhes o essencial carbono a partir do qual se obterá uma data exata. Em conseqüência, os arqueólogos dependem do estabelecimento da idade dos ossos de animais encontrados juntos com os artefatos, e depois supor que cada um seja contemporâneo do outro. Lamentavelmente, muitas vezes não é o que ocorre.
Como aconteceu em Creswell Crags, às vezes os ossos animais são engastados nos sedimentos de cavernas provenientes de várias fontes e depois misturados ainda mais. Os instrumentos de pedra podem ficar embaralhados com esses ossos. Portanto, quando se obtém uma data de radiocarbono, digamos, do osso da pata de uma rena encontrado junto a uma ponta-de-lança, essa data não necessariamente nos diz quando se perdeu ou jogou fora a ponta-de-lança na caverna. Poderia nos dizer apenas que uma hiena usou a caverna como seu covil vários séculos ou até milênios antes ou após a presença humana.
O vitoriano John Lubbock, escrevendo na década de 1860, estava bem a par desse problema. Na verdade, em Tempos pré-históricos, usou marcas de corte para contestar afirmações de um certo Monsieur Desnoyers, de que os ossos de animais extintos tinham jazido em cavernas por milhares de anos antes do surgimento do homem, os restos sendo simplesmente misturados. A associação entre artefatos de pedra e ossos de mamute, urso e rinoceronte peludo das cavernas foi crucial para os que defendiam uma idade da antigüidade humana maior que os poucos mil anos abarcados pela Bíblia. O vitoriano John Lubbock fez exatamente o que faria qualquer arqueólogo moderno: procurou marcas de corte nos ossos e forneceu exemplos de leão, rinocerontes peludos e renas das cavernas. Na verdade, antecipou-se a quase todas as técnicas empregadas pelos arqueólogos atuais. Discutiu o impacto da roedura e do consumo de carniça e restos por cachorros nas coleções de ossos que os arqueólogos tem de estudar, utilizou diferentes graus de fragmentação de esqueleto para avaliar as datas de enterro, e avaliou as estações nas quais a caça ocorrera pelos animais presentes e o conhecimento do comportamento de suas modernas contrapartes.
Hoje, quando não se questiona mais a idade da antigüidade humana, os ossos marcados de cortes continuam sendo igualmente essenciais para o estudo arqueológico. Proporcionam espécimes ideais para a datação por radiocarbono, pois os ossos com marcas de cortes são, por definição, contemporâneos da presença humana. A possibilidade de datar o que são muitas vezes fragmentos só surgiu com o advento de uma nova técnica de datação por radiocarbono, chamada "acelerador de espectrometria de massa", ou EMA na sigla inglesa. Pode datar amostras de não mais que 1/1000mo do tamanho requerido pela técnica mais antiga "convencional", como hoje a descrevem.
Em 1997, Rupert Housley e seus colegas publicaram, os resultados de mais de uma centena de novas datas de radiocarbono EMA, obtidas de 45 sítios distribuídos ao longo do norte da Europa, desde o leste da Alemanha às Ilhas Britânicas. Housley é um dos principais especialistas em datação por radiocarbono e selecionou minuciosamente espécimes que forneceram provas inequívocas da presença humana. Pela primeira vez, os arqueólogos tiveram a oportunidade de formar uma compreensão exata de quando e como os povos se expandiram de seu refúgio na era glacial no sudoeste europeu para o norte.
Os limites norte daquele refúgio eram os vales que atuam como tributários do Loire. Só depois de 15.000 a.C. o povoamento avançou mais para o norte, a princípio para o Alto Reno, e depois, por volta de 14.500 a.C., para o Médio Reno, a Bélgica e o sul da Alemanha. Isso ocorreu após a migração de matos e arbustos para o norte, seguidos de perto por rebanhos de rena e cavalos ávidos por expandirem seu raio. Sabemos que os pioneiros da era do gelo se deslocaram à velocidade média de 1 quilômetro por ano, e em mais 400 anos já haviam criado assentamentos no norte da França, norte da Alemanha e Dinamarca. Cerca de 12.700 a.C., os primeiros povos retornaram à Grã-Bretanha após uma ausência de quase 10 mil anos. Não surpreende que esse grande movimento final para o norte coincida com o período quente do Bolling. Nessa época, a Grã-Bretanha era simplesmente o canto mais noroeste da Europa — mais vários milhares de anos teriam de passar-se para que se tornasse uma ilha.
A recolonização de qualquer região específica foi um processo em dois estágios, Primeiro chegaram os pioneiros. Nesta fase, os sítios arqueológicos são pequenos, em geral não mais que um pequeno conjunto de artefatos de pedra. Esses sítios eram muito provavelmente acampamentos de pernoite de grupos de caça que exploravam terras desprovidas de qualquer assentamento humano durante o período de glaciação. É possível que os pioneiros tenham viajado para o norte no verão, retornando aos acampamentos-base no sul para contar o que tinham visto. O conhecimento da topografia, a distribuição de animais e plantas e as fontes de matérias-primas tiveram de ser adquiridas aos poucos por esses pioneiros, para poderem criar mapas mentais do novo território. Este deve ter sido o desafio. Como o tempo e o clima continuavam muito variáveis, corpos de conhecimento estabelecidos numa geração de exploradores talvez tivessem sido de pouco valor para a seguinte.
A fase de pioneirismo durou cerca de 500 anos, ou vinte gerações. Só após a realização disso, ocorreu de fato uma mudança no assentamento humano — inaugurando o que Housley e seus colegas chamam de a fase residencial. Nesse estágio, famílias e outros grupos mudaram-se de seus acampamentos-base para morar permanentemente no norte, explorando os rebanhos de rena e cavalos que se tinham tornado estáveis nas tundras.
Por que essas pessoas foram explorar as terras do norte e depois instalaram residência lá? Os esporos e sementes de plantas foram transportados pelo vento; os Insetos e animais que seguiram em sua esteira não tiveram condições de resistir ao imperativo ecológico de reproduzir-se e explorar novos nichos assim que tais oportunidades se apresentaram. Seriam os caçadores da era do gelo tão indefesamente impelidos quanto os besouros, roedores e gamos? Quando chegou o degelo, teriam as populações humanas simplesmente inchado como os rios até serem obrigadas a encontrar novas fontes de comida?
Não há a menor dúvida de que as populações humanas de fato se expandiram. O brilhantismo das pinturas das cavernas da era glacial esconde a amarga verdade de que a vida no LGM fora assustadoramente difícil. O inverno teria sido fatal para muitos dos bebês, crianças e enfermos, pois o terreno congelado e as tempestades de neve destruíam o suprimento de comida e a saúde humana. Exatamente o que acontecia aos corpos, não sabemos, pois não havia cemitérios, e os túmulos individuais são poucos e muito distantes entre si.
Mesmo com um ligeiro aumento das temperaturas médias, as populações teriam crescido, talvez rápido: bebês sobrevivendo até a infância em vez de morrer de frio e fome; mulheres dando à luz um terceiro e quarto filhos; os idosos sobrevivendo ao inverno e contando histórias à nova geração de caçadores da era do gelo.
Mas outros fatores além do aumento em número talvez tenham impelido as pessoas para as terras do norte. É possível que ambiciosos rapazes e moças partissem em busca de novos recursos, aqueles que proporcionavam prestígio e artigos de troca, além de comida e bebida. Daí em diante, com a retirada das camadas de gelo, aventureiros talvez os tivessem seguido, em busca do marfim dos mamutes, peles luxuosas, conchas e pedras exóticas. Tensões sociais podem ter sido o incentivo a que outros rumassem para o norte. Quando novas terras se tornaram acessíveis, surgiu a oportunidade de rapazes e moças estabelecerem comunidades só deles, em vez de continuar sob a autoridade dos mais velhos e de tradições que não mais lhes agradavam.
Duvido que qualquer uma ou todas essas explicações sejam razoavelmente suficientes para explicar a grande jornada para o norte após o desaparecimento do gelo. Precisa-se invocar outra força motivadora, uma força que vamos encontrar por trás da disseminação humana em todo o mundo quando as viagens de Lubbock o levam a atravessar as Américas, Austrália, Ásia e África. É a curiosidade do espírito humano: o instinto de explorar novas terras simplesmente pela própria exploração.
14
Com Caçadores de Renas
Economia, tecnologia e sociedade,
12.700 – 9.600 a.C.
Silêncio — a não ser pela ritmada e profunda respiração de caçadores ansiosos e as retumbantes batidas de seus corações cheios de adrenalina. Alguns deles acocoram-se atrás de pedras; outros escondem-se entre moitas de ramas com a aproximação da manada. John Lubbock deita-se colado no chão, disposto a observar a matança anual de renas no vale Ahrensburg, de Schleswig-Holstein.
Por entre os talos das plantas, vê uma trilha serpeando no meio de dois laguinhos no fundo do vale. As renas usam essa rota todo outono, ao fazerem sua migração anual em busca de novo pasto no norte. Um vento gelado leva o cheiro dos caçadores, quando a terra se põe a vibrar sob o tropel de uma multidão de cascos. A emboscada está montada.
O grupo da frente das renas passa pelas pedras e afunila-se ao longo da estreita trilha. O sinal é dado e as lanças atiradas, atingindo os animais por trás. Outras lanças chegam do outro lado do vale — as condutoras são encurraladas. Aterrorizadas, fogem para o lago e nadam pela vida. Após poucos segundos, oito ou nove animais jazem no chão; alguns estremecem antes do golpe final na cabeça. Umas poucas carcaças flutuam no lago; são deixadas para afundar, pois as da terra fornecerão mais que suficiente comida, couro e chifres. As lanças são cuidadosamente recolhidas — não tanto pelas pontas quanto pelos cabos de madeira, preciosos na paisagem quase sem árvores do norte da Europa.
Alfred Rust escavou o sítio Meiendorf, no vale Ahrensburg, na década de 1930. Nos lamacentos sedimentos do fundo do vale, encontrou milhares de ossos de rena e um grande número de pontas de pedra outrora presas nas lanças. Tinham sido letais armas de caça, mais provavelmente impelidas com a ajuda de um atlatl — vara que formava um gancho em volta da ponta da lança — para imprimir força extra.
Essas armas datam de 12.600 a.C., correspondendo quase ao fim do período que Edouard Lartet batizou como "Lâge du renne". O arqueólogo francês Lartet, tão admirado pelo vitoriano John Lubbock, ficara impressionado com as enormes quantidades de ossos de renas nas grutas do sul da França. Sabemos hoje que esses ossos vinham sendo acumulados pelo menos desde 30.000 a.C. Mas o arqueólogo não tinha qualquer idéia da idade disso e concebeu "Lâge du renne" como a idade seguinte a "Lâge du grand ours des cavernes" (urso das cavernas) e "L'âge de l’éléphant et du rhinocéros", mas anterior a "L’âge de l’aurochs" (gado selvagem).
Dividir o que o vitoriano John Lubbock chamou de Paleolítico em quatro fases desse tipo era uma idéia inovadora em 1865, mas sujeita a algumas críticas em Tempos pré-históricos, devido a sobreposições das espécies denominadas. Das quatro fases, L’âge du renne persistiu no pensamento arqueológico por muito mais tempo que as outras, porque muitas comunidades da era do gelo dependiam de fato da rena para seu modo de vida.
Depois que o gelo se dissolveu, a rena logo passou a usar o vale Ahrensburg como uma importante rota de travessia em suas migrações anuais da tundra desarborizada para os pastos invernais no sul da Suécia. A paisagem da tundra era muito mais amena que a que hoje conhecemos: as temperaturas de verão alcançavam 13°C e caíam a apenas menos 5°C no inverno. Quando os pioneiros chegaram pela primeira vez à região, devem ter visto com assombro os rebanhos de renas passarem pelo estreito vale — era uma oportunidade de caça de primeira.
Alguns dos sítios que Rust encontrou, como Meindorf, datavam do Bolling, e outros eram 2 mil anos mais novos, encaixando-se no período do Jovem Dryas. A essa altura, as temperaturas subárticas haviam retornado ao norte da Alemanha, embora a tundra agora sustentasse bosques dispersos de pinheiro e bétula. O mais famoso sítio do Jovem Dryas descoberto por Rust é o Stellmoor, localizado na borda leste do vale. Ali se recuperaram mais de 18 mil ossos e chifres de rena, junto com um grande número de instrumentos de sílex e mais de uma centena de hastes de flecha de pinheiro, preservadas nos sedimentos inundados.
Fora, evidentemente, um sítio de matança em massa, com grande probabilidade de tornar o lago vermelho de sangue. O arqueólogo alemão Bodil Bratlund reconstituiu a cena com um meticuloso estudo dos ossos de rena das coleções de Rust, concentrando-se naqueles em que pontas de flecha de sílex continuavam encravadas. Identificou quais partes do corpo tinham sido atingidas e a direção de onde tinham vindo as flechas.
Os caçadores atiraram as primeiras flechas horizontalmente nas condutoras dos rebanhos, mirando o coração para matar logo. As condutoras fugiam para o lago, aterrorizadas e nadando para salvar a vida — assim como suas ancestrais haviam feito quando os homens armados de lança de Meiendorf atacavam. Outras flechas se seguiam, pelas costas e por cima — encontraram-se pontas de flecha de sílex enterradas em omoplatas e na nuca — mas muitas erravam visivelmente o alvo e afundavam na lama. Depois de as carcaças serem arrastadas para a margem e esquartejadas, é provável que tivesse banquete entre os grupos que se tinham reunido para a matança anual.
Os caçadores de Stellmoor mataram gamos em escala muito maior que os de Meiendorf. Sua tecnologia era mais eficaz: as lanças haviam sido substituídas por arcos e flechas com as típicas pontas triangulares de encaixe. Na verdade, os arqueólogos hoje as chamam de pontas "ahrensburgianas", e as encontram em todo o norte da Europa durante o Jovem Dryas. Com toda probabilidade, foram uma resposta criativa à severidade do clima e constituíram um salto à frente em tecnologia.
Até agora não se encontraram os sítios de acampamento onde os caçadores de Meiendorf e Stellmoor faziam seus atatls, flechas de pinheiro e planejavam as emboscadas. Cerca de mil quilômetros ao sul, porém, na bacia de Paris — a área cercada pelas montanhas das Ardenas no noroeste e as Vosges no leste, o Morvan no sudoeste e o Maciço Central no sul — dá-se o contrário.
Mais de cinqüenta sítios foram encontrados, a maioria consistindo apenas de fragmentos de artefatos de sílex — tendo-se quaisquer materiais como ossos animais e hastes de flechas de madeira decomposto há muito tempo. Três se acham particularmente preservados, Pincevent, Verberie e Etiolles, cada um ocupado durante o Bolling e seu imediato depois. Foram localizados tão perto de rios, tributários do Sena, que ficavam cobertos de aluvião toda vez que tinha uma enchente — na certa toda primavera. Em conseqüência, os artefatos de pedra, ossos de animais e lareiras foram lacrados e assim preservados exatamente como tinham sido abandonados. Após meticulosa escavação e rigorosos estudos, realizados sobretudo pelas arqueólogas francesas Françoise Audouze e Nicole Pigeot, oferecem vívidos instantâneos da vida dos pioneiros e colonizadores no noroeste da Europa.
John Lubbock avança por um desses instantâneos, após sair de Meiendorf e chegar ao que se tornará o sítio de Verberie, no vale do Oise, na bacia de Paris. Hoje esse sítio se localiza em meio a uma luxuriante paisagem agrícola, mas a visita de Lubbock exigiu uma viagem pela tundra e por entre pinheiros e bétulas em fundos de vale, árvores que ofereciam bem-vindo alívio do vento cortante. É uma tarde de outono e a luz já começa a desfazer-se. Ele pára na borda do sítio de acampamento e vê pessoas amontoadas em volta de uma fogueira. Elas não moram em Verberie; usam o sítio apenas por um ou dois dias para esquartejar renas emboscadas e mortas quando tentam transpor a vau do rio próximo.
As carcaças já haviam sido trazidas e largadas ali no chão, separadas alguns metros umas das outras. Os caçadores juntaram-se aos amigos em volta da fogueira — um breve descanso antes de começar o trabalho. Lubbock também se senta, ocupando uma boa posição panorâmica, para não perder essa vital e nova lição da vida na era do gelo: como transformar carcaças em postas de rena.
Três ou quatro das pessoas — homens e mulheres — começam a cortar rápida e habilmente com seus instrumentos de pedra, interrompendo-se muitas vezes para pegar uma faca de pedra melhor ou um novo cutelo numa pilha de lascas de sílex preparadas quando a caça se achava em andamento. Lubbock concentra-se no grupo mais próximo, ávido por aprender o ofício de caçador. Primeiro retira-se a cabeça do animal e depois todo o corpo é esfolado. Fazem-se cortes em volta de cada casco e ao longo de cada perna. O couro é então quase descolado — embora com muitos puxões e corte de tendões — e estendido com a superfície externa para baixo. A barriga é aberta com uma incisão que vai do esterno até as virilhas; uma massa de vísceras derrama-se pelo chão e é empurrada para um lado.
A carcaça é dividida: pernas, pélvis e fatias grossas de costela, junto com o fígado e os rins, são retirados e empilhados sobre o couro. Arrancam-se o coração, pulmões e válvulas bronquiais como uma unidade individual e depois separam-nos — o coração acrescentado à pilha de carne, o resto posto com as tripas. Como penúltimo ato, a face da cabeça decepada é talhada e aberta para expor a base da língua. Corta-se então esta, arrancada depois com um puxão forte. Por fim, retiram-se os chifres, que logo encimam a pilha de carne e órgãos.
Cada grupo trabalha em volta de sua carcaça, virando-a para fazer o corte através do couro ou separar um membro. Duas juntas maiores são transportadas a uns 100 metros de distância e entregues a duas mulheres que tiram fatias de carne. Enquanto trabalham, os açougueiros de vez em quando atiram para trás os ossos com pouca carne ou tutano, juncando o chão com curtos pedaços de vértebras, ossos das pernas e palas inferiores, fragmentos da caixa torácica.
Findo o trabalho, faz-se outro intervalo, durante o qual as fatias, junto com rins e fígados, são assadas na fogueira e comidas. Trenós são então carregados com a carne de rena restante, chuta-se terra sobre as cinzas, e os caçadores partem, levando cordas de couro torcido ao cair da tarde. Lubbock continua sentado. Após alguns minutos, chegam lobos para alimentar-se da carniça. Têm um banquete, roendo ossos, lambendo o sangue e devorando avidamente as tripas.
Também eles seguem em frente e deixam o sítio de esquartejamento de forma muito semelhante à que os arqueólogos vão encontrar um dia. Vê-se uma área de cinzas onde antes ardera a fogueira; um punhado de lascas de sílex e nódulos quebrados onde se prepararam os instrumentos; um conjunto superficial de fragmentos de ossos roídos e instrumentos abandonados. Três áreas circulares vazias demarcam o lugar onde as carcaças foram jogadas e em volta das quais trabalharam os ágeis açougueiros. As migalhas restantes de carne, couro, tendões e tutano nos ossos descartados logo desaparecem, consumidos por pássaros, besouros e larvas. Na primavera, o rio vai transbordar suas margens e depositar finos sedimentos no sítio, deixando imperturbadas apenas as mais minúsculas lascas de sílex e fragmentos de ossos.
Lubbock visita outro assentamento, que se tornará Pincevent. Fica exatamente 125 quilômetros ao sul, mas ele toma um caminho sinuoso ao longo dos vales do Oise e do Sena até a sua confluência com o Yonne. Na chegada, vê um grupo de tendas, feitas de armações de macieira cobertas com couro de rena, em volta das quais pessoas cuidam de fogueiras e limpam peles. Estas são bem esticadas e raspadas para retirar gordura e tendões. Erguendo uma aba, ele olha dentro de uma tenda: uma pequena fogueira arde perto de um bebê deitado num berço em forma de canoa, feito de couros de animais. Outra criança, um menino de uns 4 ou 5 anos, brinca no chão, vestido apenas com um par de perneiras.
Do lado de fora, vários dos homens e mulheres mais velhos sentam-se num pequeno grupo, discutindo se já é hora de deixarem Pincevent e voltarem para seus acampamentos de inverno no sul. O outono chega ao fim e quase todas as renas já se foram — restam apenas umas desgarradas dos imensos rebanhos que há muito passaram em sua jornada para o norte.
Cinco famílias, cada uma com sua própria lareira construída numa cavidade no terreno, usam o sítio em Pincevent. Chegam alguns homens puxando um trenó cheio de postas de carne de rena e pilhas de chifres — muito parecidos com os que Lubbock vira partir de Verberie. Todos se reúnem em círculo; as postas são divididas e a carne partilhada. Realiza-se um banquete noturno — o último antes de o acampamento ser abandonado por mais um ano.
Quando o grande arqueólogo francês André Leroi-Gourhan escavou Pincevent na década de 1960, encontraram-se muitos ossos fragmentados de rena amontoados em volta das lareiras rebaixadas, onde a carne era assada e comida. Duas décadas depois, o arqueólogo americano James Enloe descobriu que dois fragmentos de diferentes lareiras se encaixavam, mostrando que uma única posta fora dividida. Carcaças inteiras haviam sido divididas dessa maneira — a perna dianteira esquerda de um animal foi encontrada ao lado de uma fogueira, a direita em outra. A partilha de comida ocupava o centro da vida social para os que acampavam em Pincevent — como na verdade ocorreu com todos os caçadores-coletores por toda a história humana.
Voltando 40 quilômetros rumo ao norte, ao longo do vale do Sena, Lubbock chega a um assentamento que se tornará conhecido como Etiolles. Ali, tinha lugar uma atividade muito diferente: a manufatura de artefatos. As previsíveis migrações dos rebanhos de rena eram apenas uma das atrações dos vales do norte da França para os caçadores da era glacial. Outra era a existência dos nódulos enormes e de excelente qualidade de sílex, expostos nos afloramentos de greda e calcário das encostas do vale. O sílex era a mais valiosa matéria-prima em toda a Idade da Pedra, porque podia ser trabalhados e transformados em lascas e lâminas alongadas e afiadas como as de barbear, a golpes de martelos de pedra. Das lâminas podia-se fazer uma grande variedade de ferramentas com delicados desbastes: pontas-de-lanças, raspadeiras para limpar peles, cinzéis ("buris") para gravuras em osso e marfim, sovelas para furar couros. Os pioneiros que se disseminaram pelas terras do norte teriam ficado atentos a fontes de sílex — a Loja de ferragens da era glacial. É provável que as descobertas nos vales do norte da França fossem as melhores que encontraram.
Lubbock vê grandes nódulos de sílex chegarem ao sítio em sacos de couro de gamo, após terem sido escavados de sedimentos calcários apenas a 100 metros dali. Alguns são realmente grandes, de 50 quilos e mais de 80 centímetros de comprimento, fazendo parecer de tamanho bastante diminuto os que ele vira trabalhados em Azraq, no Oeste da Ásia. Muitos desses enormes nódulos também são imaculados por dentro, não contendo nada dos fósseis e cristais ocultos, nem fissuras internas causadas pela geada, que corrompe pedras de qualidade inferior.
O trabalho parece descontraído, misturado a conversa e comida, mas é extremamente sério: cada golpe é planejado com todo cuidado. Esses excelentes nódulos proporcionam a artesãos experientes uma oportunidade para exibir seus talentos, e a abundância de sílex permite aos novatos trabalharem com pedra nova em vez das descartadas pelos especialistas. Os nódulos — ou núcleos, como os chamam os arqueólogos — são presos entre os joelhos e golpeados com martelos feitos de pedra e chifre. Separam-se finas lascas sistematicamente; a maioria é deixada no chão onde cai, mas algumas são selecionadas e postas de lado. Vão ser transformadas em instrumentos por delicado desbaste da borda, para criar uma forma ou ângulo específicos, ou mais provavelmente usadas como estão — nada pode ser mais afiado. Após pegar ele próprio um nódulo e um martelo de pedra, machucar o polegar e não conseguir separar uma única lasca, Lubbock aprecia mais uma vez o conhecimento e habilidade, exibidos sem esforço. Pelo menos evita ter um dedo sangrando, e portanto algum progresso parece ter sido feito desde seus dias em Azraq.
A forma e o tamanho de cada lasca separada dependem exatamente do tipo de martelo usado, de onde o nódulo é golpeado, da rapidez e do ângulo do golpe. Lascas minúsculas são muitas vezes retiradas cinzelando-se ou esmerilhando-se a ponta, antes de o nódulo ser martelado para que a força do golpe não seja desviado. Os quebradores visam a produzir longas e finas "lâminas" de sílex.
A produção de lâminas talvez pareça um exercício um tanto leve, mecânico — e na verdade é assim que os arqueólogos muitas vezes descrevem o trabalho. Mas pela observação da ação em si, a impressão de Lubbock é bem diferente. Os núcleos são apalpados por dedos que apreciam a textura da pedra; o estalo de cada golpe e o tinido das lascas sobre lascas a cair no chão são ouvidos com atenção; o núcleo é o tempo todo virado, inspecionado e examinado, como se fosse uma nova paisagem de caça. Chamar esse trabalho de "quebrar lascas" ou "produção de instrumentos" parece escárnio.
Claro que a quebra nem sempre sai como planejada. Alguns nódulos que parecem perfeitos vistos de fora têm falhas internas e são descartados assim que golpeados — produzem um baque surdo em vez do sonoro "tinido" que sai da pedra perfeita. Mais problemáticos são os golpes errados e as decisões enganadas sobre quais lascas retirar a fim de modelar o núcleo. Vendo os quebradores em ação, Lubbock ouve uma ou outra praga quando um núcleo se parte em dois, ou quando uma lasca é só parcialmente separada, deixando um "degrau" no nódulo. Às vezes o núcleo é jogado fora, simplesmente largado na pilha de lascas que se acumularam no chão.
Vinte e cinco pilhas desse refugo são escavadas em Etiolles, Do mesmo modo que James Enloe reuniu ossos de animais quebrados em Pincevent, a arqueóloga francesa Nicole Pigeot reagrupou as lascas e nódulos de cada pilha. Reconstituiu as decisões e ações, segundo após segundo, dos quebradores de lascas da era do gelo que trabalharam em Etiolle cerca de 12.500 a.C. Nicole descobriu que os quebradores que se sentavam junto à fogueira eram os mais habilidosos, pois seus nódulos reconstituídos mostravam menos erros. Progressivamente, os menos habilidosos iam trabalhando a distâncias cada vez maiores da lareira, com os mais distantes fazendo tentativas experimentais e canhestras de retirar as lâminas.
Em outras partes da Europa — como nos vales dos rios Meuse e Lesse, do sul da Bélgica — o sílex era um bem muito mais precioso e não podia ser desperdiçado pelos mais inexperientes. Esses vales foram provavelmente visitados primeiro pelos caçadores da bacia de Paris, fazendo viagens exploratórias pela Ardenas, por volta de 16.000 a.C. Eles encontraram numerosas cavernas que eram usadas como locais de acampamento; suas fogueiras queimaram a madeira de bosquetes cerrados de amieiros, aveleiras e nogueiras. Assim como na França e na Alemanha, as renas eram às vezes mortas por emboscadas em "armadilhas" naturais — quando transpunham rios ou atravessavam uma garganta estreita. Outras vezes, os caçadores eram mais oportunistas, espreitando e matando uma ampla variedade de animais, como cavalos selvagens, cabritos monteses, camurças c veados-vermelhos.
Os vales dos Meuse e Lesse devem ter sido paisagens produtivas, pois logo após 13.000 a.C. os caçadores-coletores começaram a permanecer ali o ano inteiro. Sabemos disso pelo exame microscópico de linhas de crescimento sazonais nos dentes dos animais que eles matavam. Como fizera Lieberman ao estudar a gazela do sítio Natufiano Inicial em Hayonim, os arqueólogos identificaram se o último período de crescimento dentário das renas mortas na Bélgica da era glacial ocorria no verão ou inverno.
Como as proporções eram iguais, tornou-se evidente que os caçadores no sul da Bélgica matavam animais durante o ano todo. Moviam-se entre os vales e talvez também tinham caçado nos platôs intermediários cobertos de tundra. Mas não tinham sílex nas proximidades imediatas; era preciso retirá-lo de fontes 35 quilômetros ao norte ou 65 quilômetros a oeste — uma caminhada de no mínimo alguns dias.
Um dos locais de acampamento da era do gelo chama-se hoje Bois Laiterie. É uma pequena caverna situada acima de uma íngreme garganta, e segundo todos os relatos ventosa, fria e escura. Foi usada como acampamento de verão pelos caçadores da época glacial, na certa ocupada por não mais de alguns dias enquanto eles caçavam e pescavam salmão e lúcio nas vizinhanças. Carcaças parcialmente esquartejadas tinham sido levadas para lá; tocara-se uma flauta de osso de pássaro depois perdida ou jogada fora; agulhas de osso indicam que se costuraram roupas. Raposas tomaram-na como residência quando os caçadores partiram, talvez atraídas a princípio pelos detritos deixados para trás.
Outros sítios de cavernas, como Chaleux, localizado perto da confluência dos Meuse e Lesse, são muito maiores, voltados para o sul e contendo substanciais lareiras revestidas com lajes de pedra. Parecem ter sido os principais acampamentos base dos quais pequenos grupos tinham partido em diferentes ocupações — caçar, coletar sílex, juntar lenha e pescar.
Embora nenhum sítio fosse ocupado o ano todo, os vales dos Meuse e Lesse ofereciam um território anual para grupos de caçadores-coletores que não mais viajavam de volta para as terras natais de gerações passadas no sul. Exatamente quantas pessoas viveram nesses vales, é quase impossível dizer, mas se toma em geral um total de 500 pessoas como sendo o mínimo para garantir que uma população permaneça viável. Esse número, extraído de modelos matemáticos de grupos dispersos de caçadores-coletores que periodicamente se encontravam para trocar membros, corresponde a caçadores-coletores historicamente documentados da América do Norte e Canadá. Essas reuniões talvez se realizassem apenas uma ou duas vezes por ano; durante quase todo o tempo restante, é provável que os caçadores-coletores dos vales dos Meuse e Lesse vivessem em grupos de entre vinte e cinco e cinqüenta indivíduos, divididos em quatro ou cinco famílias.
Embora toda a Europa além do extremo norte fosse habitável em 12.500 a.C., há possibilidade de grande parte dela ter permanecido inteiramente vazia de pessoas. As condições da era do gelo ainda teriam inibido a taxa de crescimento populacional e causado sérias dificuldades durante as estações invernais. Além disso, a dependência das pessoas da rena para comer talvez também tivesse criado problemas, pois pelo que sabemos dos tempos modernos, as populações de rena podem atravessar períodos de aumento e diminuição de crescimento. Isso teria deixado muitos caçadores da era do gelo desesperados por comida e anulado qualquer crescimento populacional alcançado. Nessas condições, era essencial que grupos de pessoas permanecessem em contato uns com os outros — não apenas os da mesma região, mas os que talvez vivessem a centenas, até milhares, de quilômetros de distância. A chave para a sobrevivência era a informação — informação sobre reservas de alimentos, condições ambientais, possíveis parceiros matrimoniais e novas invenções, como os arcos e flechas usados em Stellmoor.
Podemos imaginar que as pessoas deviam viajar muitas milhas para visitar amigos e parentes, levando notícias e mexericos, discutindo seus planos futuros, quais animais e plantas tinham visto, quando as aves migratórias tinham alçado vôo e o que fora informado por outros grupos. Os arqueólogos encontraram traços dessas jornadas na esteira de artigos que eram levados e às vezes perdidos ao longo de grandes extensões da Europa. Um primeiro exemplo disso são as conchas fossilizadas levadas para as cavernas, e posteriormente nelas encontradas, do Sul da Bélgica — objetos sem qualquer valor utilitário, mas que poderiam ter sido utilizados para enfeitar roupas ou usados como adornos. A origem dessas conchas foi reconstituída de dois estratos geológicos, um perto de Paris e o outro no vale do Loire, distâncias de 150 e 350 quilômetros.
Viagens semelhantes vinham sendo feitas pelos caçadores-coletores no centro-oeste europeu entre o Elba e o Reno no norte, e os Alpes e o Danúbio no sul. Sílex, quartzo, âmbar e azeviche, além de conchas fossilizadas, foram descobertos em sítios a mais de 100 quilômetros de suas fontes.
Essa região da Alemanha da época moderna proporciona uma das melhores percepções sobre as comunidades que tomaram residência permanente em terras que tinham sido deserto polar durante o máximo glacial. A maioria dos Sítios da era do gelo encontrados nas colinas ondulantes e vales fluviais data mais uma vez do período Bolling, época em que suas paisagens continuavam inteiramente descampadas e nas quais cavalos e renas eram a presa existente. Na área do Médio Reno, vários grupos de caçadores parecem ter combinado seus esforços todo outono e inverno para caçar os grandes números de cavalos que se amontoavam nos vales; durante o verão, dispersavam-se para caçar renas nas regiões montanhosas vizinhas.
O mais impressionante indício de caçadas comunitárias durante o outono e o inverno são os sítios de Gönnersdorf e Andernach, descobertos diretamente em lados opostos do Médio Reno, datando os dois de entre de 13.000 e 11.000 a.C. É ao primeiro que chega agora Lubbock — após aprimorar suas aptidões em caça e esquartejamento de rena e quebra de sílex, enquanto atravessava a Europa vindo de Etiolles.
Ele encontra o povoamento localizado num terraço acima do fundo do vale. Instalou-se o inverno; o céu está escuro e a neve cobre o chão. Aí, Lubbock não encontra uma caverna soturna e úmida como Bois Laiterie, nem um sítio de grutas frágeis como em Pincevent. Em vez disso, há várias habitações circulares de considerável tamanho, de 6 a 8 metros de diâmetro, construídas com sólidas toras de madeira e cobertas com torrões de turla e grossos couros de animais. Um vento gelado sopra pela tundra e a fumaça sobe de cada telhado. De uma casa distante, ouve-se o fraco som de uma música; de uma próxima, conversa humana.
Lubbock abaixa-se, afasta os couros pendurados sobre a porta e entra. Dez ou doze pessoas sentam-se em densas peles estendidas num piso de ardósia. Está quente lá dentro, e os ocupantes, homens e mulheres, têm o peito nu; o ar cheio de fumaça é inebriante, pois ervas aromáticas ardem no fogo. As pessoas circundam uma lareira central, sobre a qual se assam nacos de carne de cavalo, sobre uma grelha de ossos de mamute.
Um punhado de conchas passa de mão em mão em volta do círculo. São pequenas conchas tubulares, ocas, branco-creme, de poucos centímetros de comprimento. Algumas têm a superfície lisa, e as outras profundas estrias. Os aldeões não as viram antes; trata-se de dentálios, originários do litoral mediterrâneo e trazidos ao assentamento por um visitante de inverno. Lubbock, claro, viu essas conchas nos pescoços de pessoas em Ain Mallaha — aldeia que prospera nas florestas de carvalho do Crescente Fértil nesse mesmo momento.
A noite cai, a carne é comida e velas são acesas. Um dos homens parece mais velho que os demais e usa no pescoço um colar de dentes de raposa perfurados. A noite toda estivera baixando a cabeça perto das ervas fumegantes e inalando profundamente. Agora pega uma pequena placa de ardósia lisa e desenha na superfície, cortando-a com uma ponta de sílex. Enquanto faz isso, as outras pessoas cantam baixinho. Minutos depois, o velho acabou, e a ardósia gravada passa em volta do círculo. Ele desenhou um cavalo; representado-o cuidadosamente e com proporções muito corretas. A ardósia é posta de lado. O velho — um xamã — recomeça: uma profunda inalada da fumaça embriagante, alguns minutos de intensa concentração em meio a mais cantoria, outra placa de ardósia para passar em volta do círculo. Também esta tem a figura de um cavalo. E assim continua por várias horas — o velho acaba desabando no chão.
Desde 1954, as escavações realizadas por Gerhard Bosinski em Gönnersdorf têm produzido a maior e mais perfeita coleção de objetos de arte da Europa Central. Encontraram-se mais de 150 placas com gravuras de animais e mulheres. Os cavalos são os representados com mais freqüência, muitas vezes com um naturalismo muito semelhante ao encontrado nas pinturas rupestres nas cavernas de Dordogne. O interesse pelo cavalo talvez não surpreenda, pois era o suprimento alimentar-chave dos habitantes; mas tais argumentos econômicos não explicam por que o mamute também era tão freqüentemente representado com igual nível de naturalismo. Os desenhos demonstram considerável conhecimento anatômico na detalhada descrição dos olhos, troncos e caudas, embora os mamutes fossem raros ou até totalmente ausentes do Médio Reno nessa época. Retratavam-se ainda pássaros, focas, rinocerontes peludos e leões.
Lubbock fica alguns dias em Gönnersdorf. Em cada um deles, grupos de caça masculinos saem em busca de cavalos pelo vale. Enquanto o fazem, ele passa a apreciar outro fator-chave da sociedade da era do gelo, um dos que foram lamentavelmente negligenciados pelos arqueólogos durante todo o último século. Trata-se do fundamental papel das mulheres. Com tão grande ênfase na caça e matança— tarefas cujo empreendimento se supõe seja dos homens, e que criam a maioria dos restos arqueológicos — ignorou-se o trabalho essencial delas. Em Gönnersdorf, Lubbock vê como elas juntam lenha, constroem e mantêm as casas, cuidam das lareiras, preparam as roupas, fazem instrumentos de pedra, madeira e chifre, cozinham a comida e tomam conta das crianças, velhos e enfermos, À noite, são as mulheres que cantam e dançam em volta das fogueiras comunais. São elas que criam e amamentam os recém nascidos. E também vão à caça.
Uma noite, Lubbock folheia as páginas de Tempos pré-históricos para descobrir o que seu xará vitoriano escreveu sobre o papel das mulheres na "sociedade selvagem", Muito pouco; elas mal chegam a ser mencionadas. Numa página, ele observa que "a castidade das mulheres não é, como regra geral, muito valorizada entre os selvagens", embora continue afirmando que "não devemos condená-los com excessiva severidade por isso"; em outras partes, comenta em termos casuais que os canibais preferem a carne de mulheres à de homens, e que se prefere como comida as mulheres aos cachorros em tempos de escassez. Portanto, o único papel apreciado pelo vitoriano Lubbock era o de satisfazer a fome, gastronômica e de outro tipo, de seus homens.
O John Lubbock moderno constatara ser isso um grande engano; o papel-chave delas em todos os aspectos da sociedade da era glacial talvez fosse o motivo de as mulheres serem os principais temas descritos pelos artistas de Gönnersdorf. Embora jamais exibindo o naturalismo dos animais, essas imagens valiam de representações quase completas, em que se desenham cabeças, corpos, braços e seios, a uma virtual abstração em que uma única linha traça a das costas e das nádegas. Às vezes mostram-se mulheres individuais, outras em grupos de três ou quatro, e em alguns casos em filas de dez ou mais, com os corpos parecendo balançar de uma forma que sugere dança. Numa imagem, uma série de mulheres que parecem caminhar juntas; uma carrega um bebê nas costas, os seios visivelmente túmidos de leite. A mesma forma feminina estilizada é bastante encontrada em sítios por todo o centro-oeste da Europa, às vezes gravada em ardósias e às vezes talhadas em galhadas, mas nunca em tanta profusão quanto em Gönnersdorf.
Os arqueólogos — tipicamente homens — têm interpretado por tradição qualquer imagem feminina da era do gelo como um símbolo de fertilidade, descrevendo várias como "estatuetas de Vênus". Mas não há nada manifestamente sexual nas imagens de Gönnersdorf; na verdade, parecem com maior probabilidade celebrar o papel das mulheres mais como mães, zeladoras, provedoras e trabalhadoras na sociedade da era glacial que apenas geradoras de filhos, e muito menos como objetos de desejo sexual.
Durante todo o inverno, as pessoas permanecem em Gönnersdorf; novas chegadas aumentam seu número para mais de uma centena. Passam muito tempo contando histórias e discutindo planos para a primavera — onde cada grupo irá para caçar, quais — se algum — ficarão na aldeia. O mesmo ocorre em sítios de acampamento de inverno por todo o centro e o norte da Europa. Mas Isso não durará. Lubbock senta-se no aconchego de uma casa, como antes fizera na estepe perto de Abu Hureyra. Assim como naquela ocasião, seus companheiros não têm o menor conhecimento de que o Jovem Dryas vai chegar daí a pouco. Isso baixará a cortina sobre todo canto e dança no vale do Reno por no mínimo um milênio.
Por volta de 10.800 a.C., o clima da Europa deu de fato um brusco mergulho de volta às mais rigorosas condições da era do gelo. Isso dizimou as manadas de cavalo que hibernavam nos vales do centro da Europa e sustentavam grandes grupos de caçadores-coletores. Em vez de ser apenas temporariamente desertada na estação do verão, Gönnersdorf foi abandonada para sempre.
Por toda a Europa, a vegetação e as comunidades animais transformaram-se: áreas florestais voltaram a ser tundra estéril. Assim como o povo do Natufiano Inicial no oeste da Ásia, os caçadores da era glacial do norte da Europa tiveram de adaptar-se às novas condições e suas populações foram levadas à beira da extinção. Não tinham quaisquer cereais para cultivar, mas exploravam a continuação das migrações anuais de rena em todo o vale de Ahrensbur — agora usando arcos e flechas.
Com a privilegiada visão em retrospecto da história, sabemos que tempos melhores iriam mais uma vez chegar. Em 9.600 a.C., o drástico aquecimento global eliminou os invernos frios de rachar c proporcionou o mais denso revestimento de florestas que a Europa conheceu por mais de 100 mil anos. E é para essas terras que agora precisamos viajar, saltando o Jovem Dryas. Vamos deixar Lubbock fazer uma jornada para o sul da Europa e retornar ao que hoje são as ilhas Britânicas no noroeste.
15
Em Star Carr
Adaptações às primeiras florestas do Holoceno no norte da Europa
9.600 – 8.500 a.C.
Visitar Star Carr, em Yorkshire, é visitar um dos sítios arqueológicos-chave na Europa. Foi comparado com precisão em importância à caverna pintada de Lascaux e ao túmulo de Tutancâmon. Mas quando chegamos, não há ônibus de turistas poluindo o ar nem guias ávidos por dinheiro. E tampouco centros de patrimônio, lojas de suvenires, postes de sinalização, monumentos ou placas; apenas um quase perfeito recanto do campo inglês.
Minha última visita foi numa tranqüila tarde de verão em 1998. Eu encontrara o caminho ao percorrer uma senda não sinalizada e um terreno de fazenda, parando para ver as acrobacias de andorinhas e martins-pescadores. Um atalho levou-me por campos com vacas a pastar o mato não ceifado, e ao longo de uma fileira de sebes onde minhas únicas companhias eram borboletas e pintassilgos a esvoaçar entre os cardos roxos. Quando esse atalho se encontrou com o Hertford, um riacho de suave corrente, com cisnes e filhotes a nadar, percebi pelas palavras trocadas com o camponês que havia chegado.
O sítio ficava à esquerda, mas não se via qualquer arqueologia, nem muros tombados ou calombos cobertos de mato a indicar uma era passada. Diante de mim abria-se um campo de pasto como qualquer outro; atrás, uma margem de rio onde abelhas trabalhavam em amoras, botões-de-ouro e rosas-de-cão. Olhando-se para leste e oeste, o pasto plano do Vale Pickering estendia-se até onde a vista alcançava, interrompido apenas por ocasionais fossos e pequenas plantações. Ao norte, a terra começava a subir em direção aos pântanos de Yorkshire, e ao sul para as ondulantes colinas descampadas. O ar desprendia um perfume de ulmária; senti-me primeiro tentado a nadar e depois tirar uma soneca.
Como podia aquele não assinalado canto de Yorkshire ser sensatamente comparado a Lascaux e Tutancâmon? Sem a menor dúvida, era uma comparação absurda. Mas foi feita por ninguém menos que o falecido Sir Grahame Clark, Professor da cadeira Disney de Arqueologia da Universidade de Cambridge, Mestre de Peterhouse, Membro da Academia Britânica. Certamente não era um homem precipitado; mas tampouco modesto; e Star Carr era sua preciosa escavação.
Assim como o túmulo de Tutancâmon e as pinturas de Lascaux são simbólicos de mundos antigos e desaparecidos, também o é o sítio de Star Carr — o mundo perdido dos caçadores-coletores habitantes de florestas da Europa que viveram no período que os arqueólogos chamam Mesolítico. Esse foi o novo mundo da cultura européia. Um mundo criado pelos descendentes dos caçadores de rena de Stellmoor e das dançarinas de Gönnersdorf, depois que o Jovem Dryas terminou tão de repente quanto começara e as camadas de gelo da Europa acabaram afinal de derreter-se.
Há muitas centenas, provavelmente milhares, de sítios mesolíticos na Europa — um registro arqueológico inteiramente diferente daqueles efêmeros traços de povos da era do gelo que tinham chegado antes. Alguns têm túmulos exóticos; outros, impressionantes. Mas Star Carr não tem nenhuma das duas coisas. Então por que é um sítio tão especial?
A resposta é simples, Star Carr fica onde o Mesolítico de fato começou. Começou ali, no sentido literal — é um dos mais antigos assentamentos mesolíticos conhecidos em toda a Europa. Começou ali para mim pessoalmente — Star Carr foi o primeiro sítio mesolítico de que tomei conhecimento, e revelou-se fundamental para a minha decisão de tornar-me arqueólogo. E começou ali num sentido histórico: antes de Grahame Clark fazer suas escavações de 1941-1951, o período Mesolítico era quase ignorado em comparação com o Paleolítico, que veio antes, e o Neolítico, que a ele se seguiu. Foi o primeiro sítio na Europa, de qualquer período, a ser datado por radiocarbono.
Em 1865, o John Lubbock vitoriano não tinha a mínima idéia dessa crucial fase da Pré-História. Escreveu em Tempos pré-históricos: "A partir do cuidadoso estudo dos vestígios que chegaram até nós, parece que a Arqueologia pré-histórica pode ser dividida em quatro grandes épocas." Descrevia em seguida o período Paleolítico — "quando o homem partilhava a posse da Europa com o mamute, o urso das cavernas, o rinoceronte peludo e outros animais extintos"; o período Neolítico — "caracterizado por belas armas e instrumentos feitos de sílex e outros tipos de pedra"; a Idade do Bronze e a Idade do Ferro. Nenhuma menção ao Mesolítico; simplesmente não existia em 1865.
Mais adiante no livro, o vitoriano Lubbock diz que o arqueólogo dinamarquês professor Worsaae queria dividir a idade paleolítica em duas fases. A primeira envolvia implementos de pedra associados a animais extintos, e a segunda referia-se a descobertas feitas no litoral dinamarquês, sobretudo grandes montes de conchas que também continham espinhas de peixe, ossos e artefatos de animais, chamados Kjökkenmöddings (monturos de cozinha, ou depósitos de lixo). Outro arqueólogo dinamarquês, professor Steenstrup, acreditava que os monturos faziam parte da Nova Idade da Pedra, do Neolítico de Lubbock. Após pesar os escassos vestígios dos dois lados, o John Lubbock vitoriano tomou o partido de Steenstrup: embora achasse que os Kjökkenmöddings representavam um período definido da história dinamarquesa, na certa ficava dentro do próprio Neolíüco.
Sabemos hoje que Worsaae estava certo e Steenstrup inteiramente errado; o Mesolítico é muito distinto dos períodos Paleolítico e o Neolítico da pré-história européia. Trata-se dos caçadores-coletores do período holocênico na Europa, os que viviam em densas florestas antes da chegada dos primeiros agricultores. Grahame Clark foi pioneiro em estudos mesolíticos na Grã-Bretanha na década de 1930, compilando um catálogo e classificação dos artefatos de pedra do período. Mas só com a escavação de Star Carr seus interesses se voltaram para o estilo de vida e meio ambiente do Mesolítico. Ao fazer isso, apenas alcançava a arqueologia dinamarquesa, que já vinha atacando esses problemas desde que os Kjökkenmöddings foram escavados pela primeira vez na década de 1850 — embora Worsaae e Steenstrup discordassem sobre a idade deles.
Naquela pacífica tarde de verão, imaginei a atividade do jovem professor de Cambridge e sua equipe chegando a Star Carr, montando acampamento e começando o trabalho de escavação. Clark escolhera Star Carr depois que se descobriram artefatos de pedra num fosso de drenagem. Acabou sendo uma escolha perspicaz, Na turfa saturada de água daquele campo em Yorkshire, ele encontrou os restos de um acampamento de caçadores-coletores com um grau de preservação sem precedente, não apenas de ossos de animais, mas de instrumentos de chifre e madeira. Nem de perto algum sítio mesolítico da Grã-Bretanha, encontrado antes ou desde então, se aproximou de seu nível de preservação.
Os habitantes do Mesolítico se teriam sentado exatamente onde eu me sentei naquela deliciosa tarde. Mas nas colinas ao norte e ao sul de então faltavam os muros e as casas de fazenda construídas com pedras do campo de Yorkshire; eles viam nesse lado encostas cobertas de floresta de bétula e um espesso matagal de fetos. E à sua frente estendia-se não um pasto, mas um enorme lago, a margem demarcada hoje pelo declive pouco fundo no qual eu cochilara.
O lugar de acampamento deles foi uma base de caça nas florestas de bétula e ao longo da beira do lago. O veado-vermelho era sua presa preferida, mas também caçavam javali, cabrito montes, alce e auroque. Coletavam plantas, capturavam patos e mergulhões, e com toda probabilidade pescavam em canoas. Chegavam a Star Carr todo verão, e uma de suas tarefas essenciais era queimar as densas fileiras de juncos que margeavam o lago. No acampamento, conjuntos de instrumentos eram feitos e consertados — novas pontas e farpas encaixadas nas flechas, peles de animais limpas e depois costuradas para roupas, e arpões de Calhadas manufaturados.
As galhadas teriam sido reunidas no outono e inverno, escondidas no sítio pronto para essa visita. Talhar os arpões era um ofício ao mesmo tempo de habilidade e laborioso. A galhada era trabalhada com instrumentos de pedra em forma de cinzéis. Cortavam-se sulcos paralelos ao longo da peça, e depois soltava se um segmento plano; este era cortado, modelado e alisado. Alguns preferiam fazer pontas de galhada com várias farpas finas, outros talhavam apenas umas poucas, de forma grosseira; talvez fossem desenhos para capturar diferentes tipos de caça ou apenas experiências, pois ninguém sabia qual desenho era o mais eficaz para caçar.
Assim, sentado naquele campo de Yorkshire, tive de imaginar a cena mesolítica: as chamas crepitando pelos juncos secos, olhos marejados pela fumaça, crianças excitadas correndo atrás de aves selvagens, lebres e camundongos. Os juncos que tinham queimado bem, as chamas alcançando os galhos pendentes para que os amentilhos florescessem em vivido laranja, eram levados na brisa e por um momento flutuavam no lago, antes de afundar. Os juncos eram queimados para proporcionar uma vista do outro lado do lago e melhorar o acesso às canoas. A prática também estimulava o crescimento de novos brotos, que permitiriam contar com gamos pastando quando as pessoas retornassem mais uma vez para caçar nas margens. Em diferentes partes do mundo pré-histórico, nessa data de 9.000 a.C., outros também fomentavam novos brotos — de trigo e cevada, nos campos de Jericó.
Naquela noite, as pessoas talvez tivessem dançado c cantado, cheias de carne de gamo e embriagadas com drogas herbais. Eu imaginava algumas vestidas com couros e máscaras de galhada, movendo o corpo sensualmente, como corças, à música de cantos, tambores e flautas de junco. Os dançarinos de repente paravam, farejavam o ar e corriam em pânico; iam ser mortos pelas flechas dos caçadores, que lhes agradeciam e celebravam por renunciar às suas vidas.
Imaginei as pessoas partindo no dia seguinte, após dormirem sob as estrelas — algumas encaminhando-se para as colinas, outras viajando de canoa rumo à costa leste. As máscaras de corça foram jogadas fora com os ossos dos animais, o lixo da feitura dos arpões c artefatos de pedra. E ali iam permanecer, logo esquecidas — enterradas sob os juncos mortos que se transformariam em turfa, até sua descoberta mudar nossa compreensão do passado.
As escavações de Clark produziram grande parte dos indícios sobre os quais trabalhara minha imaginação. Ele encontrou máscaras de gamo — mas elas também podem ter sido usadas como disfarce de caça em vez de fantasias de dança. Encontrou igualmente várias formas e tamanhos diferentes de pontas de galhada farpadas e restos de plantas comestíveis, embora nenhuma que se soubesse ter propriedades embriagantes. Havia um remo de madeira, mas sem canoa alguma.
Clark concluiu as escavações em 1951. Isso, porém, era apenas o início de uma constante reanálise e reavaliação dos indícios de Star Carr que continuam até hoje. Clark julgou que o assentamento fosse um acampamento-base de inverno, devido à grande quantidade de galhadas — coisa presente apenas em animais caçados durante a última parte do ano. Mas quando, em 1985, os arqueozoólogos Peter Rowley-Conwy e Tony Legge reanalisaram os ossos de animais, não encontraram nada que sugerisse ocupação de inverno. Em contraste, havia mais indicações de início do verão, dos quais os dentes de gamo eram os mais reveladores. Examinando que dentes se tinham deteriorado e comparando-os com padrões conhecidos de desenvolvimento dental em gamo moderno, Legge e Rowley-Conwy tiveram certeza de que a maioria dos animais fora morta entre maio e junho.
A queimada de juncos só foi identificada em meados da década de 1990. Obra de Petra Dark, arqueóloga especializada em reconstituição ambiental que é minha colega na Universidade de Reading. Ela tomou novas amostras da turfa da margem e do centro do antigo lago e fez um estudo microscópico admiravelmente detalhado dos grãos de pólen, partículas de carvão e fragmentos vegetais numa sucessão de fatias da espessura de uma lâmina. A primeira destas vinha de uma época anterior àquela em que as pessoas tinham chegado ao Vale Pickering c mostrava que a vegetação fora muito característica das paisagens da era do gelo ervas, capins, salgueiros-do-rio, pinheiro e bétula.
Após 9.600 a.C., os grãos de pólen já haviam mudado e incluíam os de alamos e zimbros, e depois seriam dominados pela bétula. Logo após 9.600 a.C., surgiram partículas de carvão na turfa, espalhadas das primeiras fogueiras de acampamento feitas próximo ao lago. Um repentino aumento na quantidade de carvão, junto com fragmentos de junco e amentilhos queimados, indica o início de intensa atividade; uma clareira anual por queimada na vegetação ao lado do lago continuou durante 80 anos. As pessoas então ignoraram o lago por uma ou duas gerações, para retornarem cerca de 8.750 a.C. e continuarem as mesmas atividades de antes durante pelo menos mais outro século. A essa altura, o salgueiro e o choupo invadiam o lago, transformando grande parte dele em "carr" — densas fileiras de árvore em poças d'água. Em 8.500 a.C., a aveleira se apoderara da paisagem, e após um episódio de queimada, as pessoas abandonaram Star Carr e foram caçar e coletar em outro lugar. O lago praticamente desaparecera.
Árvores como aveleira, bétula, pinheiro e choupo ressurgiram de seus esconderijos da era do gelo logo após o fim do Jovem Dryas, expandindo-se rapidamente em extensas áreas florestais e retomando sua marcha para o norte.
Uma vez estabelecidas, as novas matas tiveram pouca paz. Pois logo atrás das espécies pioneiras e resistentes vinham as árvores que preferiam condições mais quentes e úmidas, cujas necessidades eram satisfeitas pelo avanço do aquecimento global. Entre elas o carvalho, o olmo, o limoeiro e o amieiro, que sobreviveram nos vales do sul da Europa e cuja disseminação para o norte fora interrompida pelo Jovem Dryas.
À medida que essas espécies viajavam de seus abrigos da era glacial, deixavam atrás uma esteira de grãos de pólen como um registro da viagem. Carvalhos, por exemplo, já eram encontrados por todo Portugal, Espanha, Itália e Grécia quando o Jovem Dryas chegou ao seu repentino fim. Em 8.000 a.C., tinham bordejado a costa oeste da França e alcançado o extremo sudoeste da Grã-Bretanha; cm 6.000 a.C., percorriam todo o continente europeu e as partes mais ao sul da Escandinávia. Em 4.000 a.C., tinham chegado à ponta norte da Escócia e à costa oeste da Noruega. Por essa época, porém, os carvalhos mais ao sul vinham sendo derrubados por camponeses que abriam clareiras para o cultivo de lavouras. O limão fez uma viagem diferente, começando no sudeste, após sobreviver ao grande congelamento no norte da Itália e nos Bálcãs. Foi margeando seu caminho para o leste e centro da Europa, e só chegou ao sudeste da Inglaterra por volta de 6.000 a.C. A aveleira, o olmo e o zimbro fizeram trilhas semelhantes pelo continente. A floresta resultante foi uma rica mistura de espécies, não apenas de árvores, mas de uma variada gama de arbustos e plantas de subsolo, fungos, musgos e liquens. Engoliu toda a Europa.
Também os animais tiveram de adaptar-se ou migrar para sobreviver. Alguns não conseguiram. Os mamutes, rinocerontes peludos e gamos gigantes se extinguiram, talvez tocados para o abismo por lanças de ponta de pedra. Outros, como as renas e os alces, sobreviveram mudando-se para o extremo norte ou para as altas montanhas, onde as densas florestas não tinham condições de predominar. Os grandes beneficiários do aquecimento global foram o veado-vermelho e o javali, que logo se tornaram a presa preferida dos caçadores mesolíticos. Enquanto os veados-vermelhos viviam em grandes rebanhos nas tundras e em terras de vegetação sobretudo rasteira do sul da Europa, o cabrito montes e o javali tinham sobrevivido ao LGM e ao Jovem Dryas nos vales abrigados, em meio a mirrados carvalhos e olmos.
À medida que iam evoluindo a paisagem e as comunidades animais, também o faziam as vidas das pessoas. Para os caçadores, as mudanças no comportamento animal eram tão importantes quanto as das próprias espécies. Os que tinham acampado em Etiolles e caçado em Meiendorf dependiam dos rebanhos migratórios de renas. Tinham esperado e espreitado o percurso dos animais por trilhas bem batidas, e depois chacinado grandes números em emboscadas, nos vales estreitos ou confluências de rios. Mas nas novas florestas, o gamo vivia em rebanhos pequenos e dispersos, em grupos familiares e às vezes apenas aos dois ou três. Portanto, a sangrenta matança pela força bruta teve de ser substituída pela astúcia — emboscar animais solitários, atirar flechas através de densa vegetação rasteira, seguir por mais tempo a trilha quando a presa fugia deixando um rastro de sangue.
Não surpreende que essas mudanças no ambiente e nas práticas de caça viessem acompanhadas do desenvolvimento de nova tecnologia. As pontas-de-lança e de flechas parrudas foram substituídas por microlitos: pequenas lâminas lascadas de pedra, em geral sílex, que logo se tornaram o mais importante elemento da tecnologia de instrumentos de pedra em toda a Europa.
Nesse sentido, o povo europeu chegou à mesma decisão tomada pelo povo kebarano do oeste da Ásia no mínimo 10 mil anos antes — de que fazer pequenas lâminas e lascá-las numa série de formas distintas era o uso mais eficaz de seus recursos de pedra. O que as armas resultantes perdiam em termos de força bruta e capacidade de penetração era muitíssimo compensado por sua diversidade e flexibilidade.
Os microlitos eram empregados não apenas como pontas e farpas de flechas, mais também como pontas de brocas e sovelas utilizadas na perfuração de couro, casca de árvore e madeira. Além de dar eficazes lâminas de faca, podiam ser usadas em arpões de três ou mais dentes para fisgar peixe, e introduzidas em placas de madeira para raspar legumes. Proporcionavam uma tecnologia de encaixe e desencaixe — o equivalente da Idade da Pedra ao mais moderno processador de alimentos hoje, com suas peças e empregos aparentemente infindáveis. Nada podia estar mais de acordo com as necessidades do povo mesolítico: assim, surgiram várias oportunidades diferentes para seu uso em qualquer estação, dia ou mesmo viagem de caça — localizações de presa inesperada, encontros casuais de nozes amadurecidas antes do tempo, abrigo para um acampamento de pernoite, uma oportunidade de pesca.
Encontram-se em geral os microlitos espalhados no lixo doméstico dos assentamentos. Muito ocasionalmente têm sido achados ainda fixados num cabo de flecha, presos com resina de pinheiro. E mais raro ainda, enterrados nos animais que mataram. Nos carrs dinamarqueses de Vig e Prejlerup, os dois mais ou menos contemporâneos de Star Carr, escavaram-se esqueletos de auroque quase completos. Haviam sido atacados mas fugido da captura. O espécime de Vig tinha duas pontas de flecha enterradas nas costelas e duas outras lesões nos ossos. Uma delas sarara — o osso começara a crescer em volta do ferimento, mostrando que não era a primeira vez que o bisão-europeu fora atingido e conseguira escapar. A segunda, que não sarara, fora, claro, um dos disparos fatais que inalaram o animal. O bisão de Prejlerup era idêntico; embora se tivessem encontrado pontas de flecha em seu traseiro, é necessário supor que também fora atingido em tecido mole e sangrado até a morte. As duas descobertas criam imagens de caçadores rastejando pelo mato baixo, atacando os machos e depois perseguindo os animais feridos — nos dois casos sem sucesso.
Os microlitos talvez tenham sido envolvidos em algumas ações notáveis, mas em si mesmos são dos menos impressionantes e complexos instrumentos pré-históricos, Para encontrar a última palavra em tecnologia do período Mesolítico, precisamos nos voltar não para a pedra, mas para os instrumentos feitos de madeira e fibras vegetais. Pela primeira vez na história européia, elas são razoavelmente abundantes no registro arqueológico; parecem testemunhar uma revolução tecnológica.
A presença desses novos artefatos talvez reflita apenas as oportunidades mais amplas à disposição de artesãos e mulheres na exuberante floresta do Mesolítico, ou talvez se deva ao lato de essas pessoas muitas vezes acamparem junto a lagos, deixando seu lixo nas superfícies rasas lamacentas. À medida que a vegetação invasora transformava esses lagos em pântanos de turfa, o lixo ali permanecia, inteiramente saturado de água e portanto resistente à decomposição. Mas embora oportunidade e preservação sejam sem dúvida importantes, desconfio que há outro fator crucial: uma nova canalização de energias criativas para as artes de desbastar, atar, torcer, esculpir e dar nós, do mesmo modo como foram outrora canalizadas para a pintura e escultura.
A delícia desses artefatos é que parecem vazar da própria natureza; falam de uma intimidade com o mundo natural hoje perdida, e são o trabalho manual de gente que amava seu ofício. Os arqueólogos encontraram, por exemplo, restos de gaiolas de vime utilizadas para capturar enguias. Algumas eram feitas de galhos de cerejeira e amieiro, entrelaçados com raízes de pinheiro — uma obra de arte, ciência natural e necessidade prática torcidas e trançadas numa coisa só. Cascas de salgueiro eram trançadas e atadas para fazer redes de pesca, usadas com flutuadores de casca de pinheiro e pesos de pedra. Essas redes eram lançadas de canoas escavadas de troncos de limoeiro e movidas com remos em forma de coração talhados em freixo. Utilizavam-se varas de aveleira para fazer cercasse desviar peixes para armadilhas, e cascas de bétula eram dobradas e costuradas, formando sacolas para carregar lâminas de sílex.
Nem toda a manufatura de instrumentos era bem-sucedida. Muitos excelentes artesãos em todo o período Mesolítico sabiam fazer arcos, mas essa arte teve de ser aprendida. Num dos casos, abateu-se um olmo e transformou-se o tronco mais ou menos num arco. Deixou-se a madeira secar e depois completou-se a forma. Mas talvez por inexperiência, ou nós na madeira, o arco se partiu durante o uso e foi quebrado ao meio, na certa partido sobre um joelho por frustração.
Receio que a impressão até agora talvez seja de que a dieta do Mesolítico era toda de carne de boi e veado, enguias e peixe grelhado. Não é verdade. Lembrem-se de que estamos lidando com pessoas que vivem em matas vibrantes, cercadas de árvores e plantas próprias não apenas para se esconder ao emboscar a presa, ou cortar, esculpir, torcer e dar nós ao fazer instrumentos. As florestas do Mesolítico proporcionavam um banquete à coleta: nozes, sementes, frutas, folhas, tubérculos, brotos. E eles certamente coletavam, às vezes em enormes quantidades — como se evidencia da Caverna Franchthi, um sítio tão distante de Star Carr quanto permite a Europa.
Enquanto gamos eram tocaiados e juncos ardiam no extremo noroeste, os povos mesolíticos a 4 mil quilômetros de distância, no sul da Grécia, coletavam lentilhas, aveia e cevada selvagens; peras, pistachos, amêndoas e nozes. Escavada entre 1967 e 1979 por Thomas W. Jacobsen, da Universidade da Indiana, descobriu-se que a Caverna Franchthi continha um imenso número de sementes nos níveis correspondentes aos povos mesolíticos, sobretudo os que viveram entre 9.500 e 9.000 a.C. Na verdade, ele encontrou mais de vinte e oito mil sementes de vinte e sete diferentes espécies de plantas. Os povos mesolíticos em Franchthi coletaram uma gama de plantas comestíveis semelhante à dos que tinham vivido alguns milhares de anos antes em Ain Mallaha e Hayonim, no Oeste da Ásia. Talvez as terras costeiras gregas também sustentassem hortas selvagens mantidas com cuidado por caçadores-coletores.
De volta ao norte da Europa, as plantas comestíveis essenciais eram avelãs e castanhas-d'água, muitas vezes coletadas em grandes quantidades. Em 1994, eu mesmo encontrei uma das maiores concentrações de lixo jogado fora num monturo mesolítico na colônia Staosnaig, na minúscula ilha de Colonsay, 40 quilômetros ao largo da Escócia — os restos de mais de 100 mil avelãs coletadas e torradas na ilha.
Ao partir de Star Carr, pensei mais uma vez em Grahame Clark cavando suas ralas, em Peter Rowley-Conwy e Tony Legge medindo dentes em seu laboratório, e nas infindáveis horas que Petra Dark passara curvada sobre seu microscópio. Um maçarico guinchava enquanto eu percorria o pasto, exatamente como linha guinchado no Mesolítico. Quando me aproximei da fazenda, vi salgueiro, amentilho e bétula crescendo em barrancos úmidos, entremeados de juncos. Parei entre eles por um momento e agachei-me. Um rico aroma de turfa envolveu-me, água que vazava da terra; toquei os juncos e aqueles caçadores mascarados de gamo tornaram a passar dançando e cantando por minha imaginação.
16
Os Últimos dos Pintores das Cavernas
Mudança econômica, social e cultural no sul da Europa,
9.600 – 8.500 a.C.
A data é 9.500 a.C. Em algum lugar no sul da Europa, o último dos artistas das cavernas da era do gelo está em ação. Ele ou ela mistura pigmentos e pinta numa parede, talvez um cavalo ou um bisão, talvez uma linha pontilhada, ou apenas retoca uma pintura feita muito tempo antes. E assim será: mais de 20 mil anos de pintura rupestre — talvez a mais esplêndida tradição artística que a humanidade já conheceu — terão chegado ao fim.
John Lubbock partiu de Gönnersdorf em 11.000 a.C. e viajou para o sul ao longo do Reno, e depois pelas colinas do leste da França, até os vales de calcário de Dordogne. Durante mil anos, viu as paisagens congelarem-se quando chegou o Jovem Dryas — o recuo da floresta e o retorno das renas aos vales do sul e centro da Europa. Mas essas condições não iriam durar: quando Lubbock transpôs o maciço Central, o aquecimento global voltou com a força toda. E assim, em vez de juntar-se aos caçadores vestidos de pele à espreita em tocaia, Lubbock agora caminhava tranqüilamente com os que emboscavam javalis, ajudava a juntar cestos de bolotas e bagas, postava-se em cima de rochas e lanceava salmões a nadar rio acima para a desova.
Pech Merle — a caverna onde se pintaram cavalos malhados no LGM — não mais era usada para arte, na verdade nem sequer era mais usada. Sentado próximo à entrada, Lubbock via algumas crianças abrirem caminho arranhando-se por entre sarças, espremerem-se entre pedregulhos e caírem no chão, os joelhos enlameados sangrando. Tinham vindo preparadas com uma tocha de palha. Bateram pedras de sílex, os gravetos chamejaram, e por alguns instantes as paredes da caverna ganharam vida com bisões, cavalos e mamutes. As crianças saíram a correr de terror, deixando a tocha extinguir-se no chão — 10 mil anos teriam de passar até que os cavalos malhados de Pech Merle voltassem a ser iluminados.
Lubbock continuou viajando para o sul e entrou nos sopés dos Pirineus. Ali visitou o que fora um dos grandes locais de encontro da era do gelo: um vasto túnel que varava um penhasco de calcário hoje chamado Mas d'Azil. Um rio fluía ao lado do túnel e pessoas acampavam na margem esquerda. Na direita, viam-se entradas para as cavernas, cujas paredes eram decoradas com pinturas e gravuras. Quando a era glacial estava no auge, as pessoas em geral tinham acampado na margem direita, onde perderam ou abandonaram algumas das mais excelentes gravuras da era do gelo já feitas: imagens de um cavalo relinchando, lépidos cabritos monteses e aves aquáticas com seus pintainhos. Grupos tinham se reunido em Mas d'Azil durante os meses de inverno, muitas vezes vindos de longe e trazendo conchas do mar, peixes marinhos e belas pedras como presentes e artigos de troca. Enfeitavam o corpo com pintura, pingentes e colares; talvez até se tatuassem. Era em Mas d'Azil que realizavam as cerimônias de iniciação, casamentos e rituais. Os arqueólogos descrevem-na como um "super-sítio" da era do gelo.
Mas quando Lubbock chegou, em 9.000 a.C., o apogeu de Mas d'Azil já passara. Alguns grupos familiares sentavam-se à beira do rio, perto da enorme entrada do túnel a montante, inteiramente desinteressados das paredes pintadas próximas. Lubbock espiou por cima dos ombros deles, à espera de ver belas gravuras de animal em criação; mas eles apenas estripavam peixes fisgados com pequenos arpões de galhada simples e chatos. Todos, exceto um homem, que na Verdade fazia uma certa arte. Mas isso não envolvia mais que toscas pinceladas em seixos. Alguns recebiam só uma gota de tinta, outros duas ou três, de vez em quando alguns mais. Algumas gotas eram vermelhas, outras pretas, algumas redondas e outras listradas.
O rio Arize continua correndo ao lado do túnel em Mas d'Azil, agora junto à D119, que vai de Pamiers a Saint-Girons, tendo a construção da estrada desunido parte da arqueologia na margem direita. Como Star Carr, Mas d'Azil é um sítio ao qual todo aquele com pretensões a arqueólogo precisa ir como peregrino, devido não só a suas notáveis obras de arte da era do gelo, mas também ao seu papel crucial na história da arqueologia. Minha própria visita foi mais de duas décadas antes, quando eu apenas começava meus estudos universitários, e lenho lembranças muito mais fortes de mim mesmo deitado à gloriosa luz do sol fora do túnel, com uma garrafa de vinho e minha namorada, do que de tudo o que vira dentro da gruta. Além disso, na época eu não sabia da importância histórica de Mas d'Azil: foi ali que, em 1887, o grande arqueólogo francês Edouard Plette encontrou material ligando as Antiga e Nova Idades da Pedra — o Paleolítico e o Neolítico.
Ele e suas últimas escavações revelaram uma admirável gama de objetos de arte e detritos paleolíticos: artefatos de pedra, arpões, ossos de rena, bisão e veado-vemelho. A maioria datava dos poucos milênios da era do gelo. Mas em cima desse material tinha camadas contendo seixos pintados, pequenos arpões ( halos e novos tipos de instrumentos de pedra que Piette designou como "cultura aziliana", o que é agora reconhecido como o Mesolítico em grande parte de todo o sul da Europa.
Em 1887, a autenticidade dos seixos pintados foi questionada pelo establishment acadêmico. Naquela época, os únicos exemplos conhecidos da arte do início pré-histórico eram as pinturas na Caverna de Altamira, descobertas em 1879. A maioria dos arqueólogos franceses ainda era virulentamente contrária à idéia de que aquelas pinturas pudessem ter sido feitas por caçadores-coletores — selvagens — da era glacial. Piette, porém, jamais tivera dúvida alguma. Por volta de fins do século, viu-se justificado: outras descobertas tornaram inevitável a aceitação das pinturas de Altamira e dos seixos de Mas d'Azil.
Nas escavações de Piette e outras posteriores de Mas d'Azil, encontraram-se mais de 1.500 pedras pintadas, e pelo menos outras quinhentas são conhecidas de outros sítios na França, Espanha e Itália. Embora talvez falte a estas a beleza da arte da era do gelo, são em tudo igualmente misteriosas, ou até mais. Como toda a arte do Mesolítico, a de Mas d’Azil é sutil e complexa, e conservou seus segredos bem guardados. Um estudo do arqueólogo francês Claude Couraud mostrou que, em vez de aleatoriamente aplicadas, as gotas de tinta com toda probabilidade constituíam um código simbólico: formas e tamanhos específicos haviam sido escolhidos; determinadas combinações e números de diferentes motivos preferidos. Couraud identificou 16 símbolos diferentes, mas das possíveis 246 combinações binárias, apenas 41 eram sempre usadas. Números de pontos entre 1 e 4 correspondiam a 85% das pedras, e dois pontos a 44%. Nos números mais altos, parece ter tido uma preferência pelos entre 21 e 29. Ele sugere que esses números talvez se referissem a fases lunares, mas nem Couraud nem qualquer outro arqueólogo conseguiu ler as mensagens nas pedrinhas pintadas de Mas d’Azil.
De Mas d'Azil, Lubbock rumou a oeste, pelas paisagens florestais ondulantes que margeavam os Pirineus, percorreu rios a escachoar águas derretidas das geleiras nas montanhas que não mais seguravam seu gelo. No norte da Espanha, visitou pessoas acampadas ao longo de extensos estuários que dividiam a planície costeira.
Como em outros lugares da Europa do Mesolítico, e na verdade do mundo, esses caçadores-coletores tinham sido atraídos para os estuários pela abundância e diversidade de comidas selvagens que ali se encontravam. Sua fonte última está nos detritos — matéria orgânica decomposta que chega nos rios de água doce por um lado, e do mar pelo outro. Isso fornece comida para uma legião de pequenas criaturas como camarões e caramujos, que por sua vez fornecem rica escolha para caranguejos, peixes maiores e pássaros, junto com mamíferos como lontras e focas. As aves migratórias preferem os estuários, e sua chegada sempre coincide com a prosperidade alimentar da estação de desova. Portanto, não surpreende que os caçadores-coletores fossem atraídos para os estuários — para caçar e pescar, catar mariscos e camarões, pegar pássaros e seus ovos.
Apesar dessa prosperidade, as pessoas do norte da Espanha em 9.000 a.C. saíam regularmente para caçar veado-vermelho e javali nos sopés das montanhas a alguns quilômetros do litoral. Às vezes, continuavam pelos penhascos, rochedos e picos adentro, à procura de cabritos monteses. Lubbock também fez uma incursão ao interior, não para caçar, mas visitar a grande caverna pintada de Altamira.
Após avançar a todo custo por entre os galhos emaranhados que tapavam sua entrada, transpôs enormes teias de aranha para chegar à câmara dos bisões pintados por artistas da era glacial, em 15.000 a.C. Embora muito escuro do lado de dentro, Lubbock agora vê o grande panorama de bisões — a Capela Sistina da pré-história, como seria mais tarde descrita. Mas seu apogeu já passara; agora só morcegos e corujas iam e vinham, e a própria caverna não abrigava mais que aranhas, besouros e camundongos. Lubbock perguntava-se se os que viviam nas matas em volta ao menos sabiam que a caverna estava ali. Com esse pensamento, continuou sua jornada para oeste por mais 25 quilômetros, até chegar a outra caverna, muito menor mas evidentemente ainda em uso: ali, detritos espalhavam-se por todo o piso e um fedorento monte de conchas de molusco. Acomodou-se nas sombras, esperando a volta dos ocupantes.
Essa caverna é hoje conhecida como La Riera, e embora desprovida de obras de artes espetaculares, sua escavação nos proporcionou a maior visão de como os estilos de vida humana no sul da Europa mudaram quando a era glacial chegou ao fim. Talvez mais que qualquer outro sítio individual, La Riera ajuda-nos a entender por que a tradição de cavernas pintadas e animais esculpidos em marfim e osso tiveram um fim súbito.
La Riera foi descoberta em 1916 d.C. por Ricardo Duque de Estrada y Martínez de Morentin, Conde de La Vega del Stella. Já estabelecido como um pioneiro da arqueologia espanhola, ele trabalhava com base num palpite — que em algum lugar, numa floresta fechada entre as cidades de Santander e Oviedo, ia descobrir a entrada de uma caverna.
Descobriu-se uma fenda que se tornou uma passagem quase vertical e estreita. Ele passou espremendo-se e entrou pelos fundos de uma pequena câmara escura, vendo-se bem atrás de um imenso monte de conchas de lapa e litorina que bloqueavam a entrada da própria caverna — um monte de detritos do Mesolítico.
Em seguida a essa descoberta, o conde escavou La Riera e descobriu que o monte de conchas tapava várias camadas de ocupação que remontavam às profundezas da era glacial e além. Quando terminou, a caverna sofreu o destino de tantos sítios arqueológicos — saqueada por caçadores de tesouro e cavada por camponeses que queriam o rico sedimento de conchas para fertilizar sua terra. La Riera chegou a tornar-se um esconderijo de soldados durante a Guerra Civil Espanhola. O interesse arqueológico voltou em 1968, quando um grupo de pinturas foi encontrado numa parede, e em 1969, quando Geoffrey Clark, da Universidade do Arizona, cavou uma pequena vala para examinar o que restara. Apesar da história do sítio, ele descobriu que ainda havia depósitos intatos dentro da caverna.
Entre 1976 e 1982, Clark juntou-se a Lawrence Straus, da Universidade do Novo México, e os dois realizaram uma escavação excelente e muito importante. Encontraram nada menos que trinta camadas de detritos humanos, uma em cima da outra, cobrindo um período de mais de 20 mil anos. Em sua base, tinha os artefatos de pedra e ossos de animais jogados fora por alguns dos primeiros seres humanos modernos a viver na Espanha 30 mil anos antes. A camada superior dos detritos era a de caçadores-coletores do LGM, que por sua vez fora enterrada pelo lixo dos que viveram durante o aquecimento global até, em 5.500 a.C., a entrada da caverna fica inteiramente bloqueada pela quantidade de detritos humanos.
La Riera sempre fora apenas um local de acampamento temporário, usado para visitas curtas, variando de poucos dias a poucas semanas. Em alguns anos, fora usado na primavera, e em outros no verão, outono ou inverno. O meticuloso trabalho de Straus e Clark, junto com o de um exército de especialistas que estudaram suas descobertas, recriou a vida humana adaptada à drástica mudança ambiental, e revelou outro incentivo para um novo modo de vida: uma população em constante crescimento.
Em 20.000 a.C., as pessoas que usaram La Riera habitavam uma paisagem em sua maior parte desarborizada. Caçavam íbis e veado-vermelho com lanças de ponta de pedra e massacravam rebanhos após encurralá-los na neve espessa ou atrás de cercas de moita cerrada, colocadas em posição para bloquear a passagem nos vales estreitos. Por volta de 15.000 a.C., os ocupantes de La Riera já tinham começado a visitar o litoral, onde catavam lapas, litorinas e ouriços-do-mar, e lanceavam lapas em promontórios rochosos. Em seu retorno a La Riera, teriam percorrido matas de pinheiro e bétulas, visitado bosques cerrados de aveleiras para coletar avelãs e talvez vislumbrar novos ocupantes da floresta como o javali. Ao longo dos 7 mil anos seguintes, o nível do mar em ascensão foi aproximando cada vez mais o litoral da Caverna La Riera — hoje a não mais de 2 quilômetros de distância. Os ocupantes faziam crescente uso de seus produtos e um grande monte de conchas de lapa começou a acumular-se dentro da caverna. A medida que o monte crescia, as próprias lapas iam-se tornando menores, pois a intensidade da coleta ultrapassava sua taxa de crescimento.
Os que usavam La Riera continuavam caçando veado-vermelho, mas agora os tocaiavam isolados e usando flechas com ponta de microlitos, em vez das grandes pontas de pedra. Também se caçavam javali e cabrito montes, aves selvagens e outros pássaros. Embora restos de plantas sejam escassos dentro da caverna, a aparência das picaretas de pedra rombudas sugere que se escavavam raízes, enquanto pedras furadas indicam que se quebravam muitas nozes.
Depois que se formou dentro da caverna o último monturo de conchas, espinhas de peixe e ossos de animais, La Riera foi abandonada. Sua entrada ficou oculta por árvores e espinheiros, perdida para a memória humana. Sob o monturo de conchas, uma camada após outra de lixo humano esperavam ser escavadas, Geoff Clark e Lawrence Straus descartam a idéia de que as mudanças alimentares reveladas por esse lixo possam ser inteiramente explicadas pelo nível do mar ascendente e a disseminação da floresta. O aumento gradual na diversidade de material comestível, a intensidade com que se caçavam animais e se coletavam alimentos vegetais e mariscos sugerem a existência de um número cada vez maior de bocas para alimentar.
Os ossos de animais escavados de La Riera, e na verdade em sítios por todo o sul da Europa, indicam uma evolução gradual, e não uma revolução, na vida das pessoas que habitaram essa região. O veado-vermelho sempre fora o primeiro alvo dos caçadores, quer os animais vivessem em grandes rebanhos na tundra do LGM ou em grupos dispersos na floresta do Holoceno. A tundra do sul da Europa jamais fora tão desarborizada e varrida pelo vento quanto a do norte; quando as temperaturas subiram e aumentou a precipitação pluvial, a mata simplesmente se alastrou do abrigo dos vales, onde as árvores haviam sobrevivido até ao mais rigoroso dos invernos da era glacial. Javalis e cabritos monteses chegaram com elas, oferecendo competição aos veados-vermelhos e novas oportunidades para os caçadores-coletores agora habitantes das florestas.
Embora os que usavam La Riera após 10.000 a.C. seguissem a antiga tradição milenar de caça aos gamos, suas vidas sociais e religiosas tinham mudado além de todo reconhecimento. As pessoas que usaram La Riera no LGM e 15.000 a.C. também tinham viajado até as grandes cavernas pintadas, para cantar, dançar e cultuar suas divindades da era do gelo. Mas as que caçavam javalis e encheram a caverna com um monte de conchas não tinham essas obrigações a cumprir.
A tradição de pintar e esculpir animais, sobretudo cavalo e bisão, juntos com símbolos abstratos e figuras humanas, durara mais de 20 mil anos. Estendera-se dos Urais até o sul da Espanha, e produzira inúmeras obras de arte: os bisões pintados de Altamira, os leões de Chauvet, os cavalos de Lascaux, as cabras selvagens de Mas d'Azil. Durante mais de oitocentas gerações, artistas tinham herdado as mesmas preocupações e as mesmas técnicas. Foi de longe a tradição artística de maior duração de vida conhecida da humanidade, e no entanto quase desapareceu da noite para o dia com o aquecimento global.
Teriam as matas fechadas obstruído também a mente das pessoas para a expressão artística? Teria sido o Mesolítico uma época em que o conhecimento antigo caiu no esquecimento — a "Idade Média" da Idade da Pedra? Bem, não, de jeito nenhum. A tradição da pintura rupestre terminou simplesmente porque não tinha mais necessidade de fazer essa arte. As pinturas e gravuras jamais tinham sido simples decoração; nem a inevitável expressão de um inerente impulso criativo humano. Tinham sido muito mais que isso — uma ferramenta para a sobrevivência, tão essencial quanto os instrumentos de pedra, roupas de pele e as fogueiras que crepitavam nas cavernas.
A era de gelo fora uma época de transformação — as pinturas e gravuras, o equivalente de nossos CD ROM’s de hoje. Emboscada e matança sangrenta tinham sido fáceis: desde que as pessoas certas estivessem no lugar certo na hora certa, podiam-se adquirir amplos suprimentos de comida. Fizeram-se então necessárias regras para assegurar a distribuição sem conflito. Abundância de comida numa região significava escassez em outra — grupos tinham de estar dispostos a reunir-se e depois separar-se; para isso, precisavam saber que grupo estava onde, e ter amigos e parentes com os quais pudessem contar em tempos de necessidade. Como os rebanhos de animais tendem a extinções imprevisíveis, os caçadores precisavam de planos de caça alternativos, sempre prontos para ser postos em prática.
Para resolver esses problemas, a informação era crucial — o conhecimento sobre a localização e os movimentos de animais, sobre quem habitava e caçava onde, sobre planos futuros, sobre o que fazer em tempos de crise. A arte, a mitologia e o ritual religioso serviam para manter a constante aquisição e fluxo de informação.
Quando se reuniam uma ou duas vezes por ano para cerimônias, pinturas e rituais, como em Pech Merle, Mas d'Azil e Altamira, os grupos também trocavam informação vital sobre movimentos de animais. Também teriam passado o ano anterior vivendo separados, alguns nos planaltos, outros nas planícies costeiras; alguns tinham feito longas caminhadas para visitar parentes distantes, outros esperado a chegada de aves migratórias. Muito se tinha para contar e ainda mais para descobrir. As crenças religiosas dos caçadores-coletores ofereciam conjuntos de regras para a divisão da comida quando necessário. As pinturas rupestres não apenas representavam as trilhas de animais, mas mostravam-nos no ato de defecar, e com as galhadas e partes gordas exageradas. Essas pinturas eram o estímulo para as histórias do que se vira, para ensinar às crianças; continham os sinais do que um caçador deve buscar ao sair atrás de uma presa e selecionar uma vítima nos meses futuros. As histórias mitológicas incluíam estratégias de sobrevivência para os anos inevitáveis mas imprevisíveis de dificuldades.
Assim, durante o tempo em que se realizavam as cerimônias e rituais anuais, e as pessoas tinham oportunidades de mexericar, trocar idéias e observações, contar histórias das façanhas dos caçadores, reafirmar laços sociais, aprender ainda mais sobre os animais à sua volta, a informação circular e a sociedade florescer — o máximo que podia sob as limitações de um clima da era do gelo.
A vida na floresta densa após 9.600 a.C. não fazia as mesmas demandas. Os animais agora eram caçados muito na base de um a um; sem matanças em massa não tinha excedentes para administrar. As travessias de vales estreitos e rios não mais tinham a mesma importância; deixara de existir a necessidade de as pessoas estarem no lugar precisamente certo no momento certo. E também a necessidade de saber o que acontecia a quilômetros de distância, no mundo natural ou social. A caça podia de fato ocorrer em qualquer lugar, em qualquer hora, por qualquer um. E se não se conseguisse encontrar animais, tinha inúmeros alimentos vegetais para coletar e lapas para catar. Como aconteceu com o veado-vermelho, as pessoas passaram a viver em grupos menores, mais dispersos, tornando-se cada vez mais auto-suficientes.
Reuniões periódicas continuavam ocorrendo, embora fossem para resolver problemas e manter laços sociais, possibilitar o casamento de pessoas, trocar matérias-primas e comida, aprender e ensinar novas técnicas de cestaria e tecelagem. Não havia mais necessidade de se fazerem essas atividades sob o olhar de animais selvagens pintados.
O fim da tradição da arte rupestre não deve ser atribuído à desintegração social, colapso social nem à chegada de uma era de trevas em que as mentes se fecharam para as artes. O término da pintura das cavernas é um admirável testemunho da capacidade das pessoas de reescreverem as regras de sua sociedade quando surge a necessidade. Uma capacidade que precisamos lembrar hoje, quando o aquecimento global ameaça nosso planeta.
17
Catástrofe Litorânea
Mudança do nível do mar e suas conseqüências,
10.500 – 6.400 a.C.
Quarenta milímetros. Talvez 33, ou mesmo não mais que 23 milímetros. Da espessura de um pequeno seixo na praia ou da profundidade de uma rasa poça de rocha. Tivessem as pessoas do Mesolítico sabido que esses eram os melhores palpites para a média de elevação anual no nível do mar durante o século seguinte a 7.500 a.C., duvido que tivessem demonstrado muita preocupação. Afinal, tais estatísticas são quase idênticas à estimada ascensão em nosso nível do mar durante as próximas centenas de anos, e nenhum de nossos governos parece demasiado incomodado.
Esses números são estimativas feitas nos últimos anos por cientistas que lutam com a imprecisão das datas de radiocarbono e a pura e simples complexidade da mudança no nível do mar no norte da Europa. Embora pareçam pequenos, as implicações desses números para os tempos mesolíticos foram extraordinárias: catástrofe litorânea. A causa definitiva foi o derretimento final das grandes camadas de gelo, sobretudo as da América do Norte. Milhões e milhões de litros d'água correram para o mar e afetaram a vida de vários milhares de pessoas — às vezes muito literalmente.
Em 7.500 a.C., a costa do norte da Europa estendia-se diretamente do leste da Inglaterra até a Dinamarca. Era profundamente cortada por estuários que levavam aos estreitos vales, que por sua vez serpeavam entre colinas de suaves elevações. A Doggerland — região hoje submersa abaixo do Mar do Norte — tinha um litoral de lagoas, pântanos, lamaçais e praias. Eram na certa os mais ricos terrenos de caça, aves selvagens e pesca de toda a Europa. Grahame Clark, escavador de Star Carr, acreditava que a Doggerland fora a região central da cultura mesolítica.
O primeiro conhecimento desse mundo mesolítico desaparecido veio em 1931. A traineira Colinda pescava à noite, a cerca de 25 milhas da costa de Norfolk, perto da margem do Ower. Seu capitão, Pilgrim E. Lockwood, arrastou um torrão de turfa e quebrou-o com uma pá. Bateu numa coisa dura — não um pedaço de metal enferrujado, mas uma elegante ponta de chifre farpada.
No mesmo ano, o Dr. Harry Godwin, botânico da Universidade de Cambridge e colega de Clark, ia começar a aplicar a nova ciência da análise de pólen em depósitos de turfa na Grã-Bretanha. Godwin colheu outras amostras de turfa do Mar do Norte perto de onde a Colinda mergulhara suas redes. Descobriu que outrora tivera florestas ali, de um tipo quase idêntico ao do leste de Yorkshire, da Dinamarca e dos Estados Bálticos, imediatamente após o fim da era do gelo. Na verdade, estabeleceu que essas regiões faziam parte de uma massa de terra contínua, na qual pessoas haviam caçado gamo e colhido plantas comestíveis em florestas de carvalho mistas; e onde de vez em quando perdiam suas pontas de chifre farpadas.
Durante quase sessenta anos, o arpão encontrado pela Colinda permaneceu como um símbolo de um mundo mesolítico submerso pelo nível do mar em ascensão. Mas os arqueólogos levaram um choque em 1989, quando uma minúscula amostra de chifre foi removida para datação por radiocarbono. Para sua surpresa, verificou-se que não era contemporânea de arpões quase idênticos de Star Carr, porém 2 mil anos mais antiga. Caçadores de rena tinham perdido o arpão quando a Doggerland era tundra ártica — a tundra que o próprio Lubbock percorrera ao viajar de Creswell Crags até o vale de Ahrensburg.
Os habitantes litorâneos da Doggerland mesolítica começaram a ver sua paisagem mudar — às vezes num único dia, outras no espaço de uma vida, ainda outras apenas quando pais e avós lhes falavam de lagoas e pântanos agora permanentemente inundados pelo mar. Um primeiro sinal de mudança foi quando o solo se tornou lamacento, quando poças d'água e depois lagos surgiram em depressões, à medida que o espelho d'água se elevava. Árvores começavam a afogar-se quando o mar continuava muito distante. Os carvalhos e limoeiros eram muitas vezes os primeiros a ir-se, os mais velhos em geral os últimos, sobrevivendo até a água do mar passar a bater em suas raízes e borrifar suas folhas.7
As marés altas tornaram-se mais altas e depois recusaram-se a retirar-se. Praias arenosas foram levadas pelas águas. As matas e florestas litorâneas transformaram-se em pântano salgado — a terra lavada diariamente pelo mar que saturava o solo com sal. Só plantas especializadas puderam sobreviver, como o funcho marítimo comestível e o esparto, que ofereciam espaço para uma variedade de moscas, percevejos e mosquitos. Garças, avocetas e colhereiros logo chegaram para alimentar-se onde, não muito antes, aves florestais tinham prosperado.
O Mar do Norte invadiu a Doggerland. Águas marítimas penetraram nos vales e em volta das colinas; surgiram novas penínsulas, tornaram-se ilhas ao largo e depois desapareceram para sempre. Assim, o mesmo também ocorreu onde o mar avançava no Mediterrâneo, aproximando-se cada vez mais da Caverna Franchthi, em que tantos alimentos vegetais tinham sido coletados por caçadores-coletores na Grécia. Em 7.500 a.C., o litoral ficava a pouco mais de um passeio à tarde para os ocupantes de Franchthi; seus antepassados tinham levado uma caminhada de um dia inteiro para chegar à costa. Camadas de dejetos de comida enterrados na caverna mostram que as pessoas de Franchthi primeiro começaram a acumular lapas e litorinas, e depois se tornaram pescadores náuticos. Passaram a visitar ilhas, como a Meios, a 120 quilômetros de distância, onde encontravam obsidiana e traziam-na para a caverna. Esse novo estilo de vida favoreceu a exploração e a colonização: Córsega, Sardenha e as ilhas Baleares foram assentadas pela primeira vez.
A experiência daqueles que habitaram as costas da Europa variou com o tempo e o lugar. Para alguns, as mudanças ambientais foram muito graduais e passaram desapercebidas: minúsculas alterações ano a ano na dieta, tecnologia e conhecimento — uma sutil e inconsciente formação de estilo de vida. Outros viam estupefatos a corrida do mar terra adentro, após um montículo de pedras ou dunas se desfazerem. Ainda outros — como os habitantes do que iria um dia tornar-se a cidade de Inverness, no leste da Escócia — enfrentaram a catástrofe.
Na década de 1980, o arqueólogo escocês Jonathan Wordsworth escavou parte da cidade medieval após a demolição das casas modernas nos nos. 13-24 da Rua Castle. Embaixo estavam as fundações de prédios e anexos medievais do século XIII, que haviam sido construídos dando para o estuário do rio Ness. Sob uma camada de areia marinha branca pedregosa, ensanduichados entre as trabalhadas pelos pedreiros medievais, ele encontrou um conjunto de quase 5 mil artefatos de silício, fragmentos de ossos e vestígios de uma lareira — restos de uma caçada mesolítica.
Em algum dia próximo a 7.000 a.C., um pequeno grupo de pessoas do Mesolítico se instalou numa concavidade natural dentro das dunas de frente para o estuário, e muito provavelmente com vista para o mar. Talvez esperassem o crepúsculo para partirem à caça de focas; talvez houvessem passado o dia catando ovos de andorinhas-do-mar e funchos marítimos e fossem dormir, com exceção de um ou dois que quebravam seixos da praia, reabastecendo o estoque de microlitos e lascas que levavam em seus sacos de pele de lontra. Uma cena na certa repetida milhares de vezes em todas as costas do norte da Europa — mais um dia mesolítico normal na vida normal de um caçador-coletor do Mesolítico.
Não ia durar. Algumas horas antes, um enorme deslizamento de terra submarina ocorrera quase mil quilômetros ao norte, no meio do oceano Ártico, entre a costa da Noruega e da Islândia. Era o maremoto Storrega, e provocou um tsunami, uma gigantesca onda de leste para oeste. Os que se achavam perto dos nos. 13-24 da Rua Castle, em Inverness, na certa devem ter-se assustado com o repentino guincho das gaivotas; ouviram um murmúrio distante, que se transformou em bramido. Supõe-se que eles primeiro viram incrédulos, e depois em pânico, quando ondas de oito metros de altura se aproximaram da foz do estuário. Imagino que correram para salvar suas vidas.
Se conseguiram alcançar a segurança, não temos como saber. Se o fizeram, e depois voltaram quando o mar se abrandou, teriam constatado que uma imensa extensão de areia branca, pedregosa, enterrara não apenas seu local de piquenique, mas tudo até onde a vista alcançava no norte e no sul. Mais de 17 mil quilômetros cúbicos de sedimentos foram despejados na costa da Escócia e permanecem enterrados embaixo de campos, dunas e casas como um registro de uma catástrofe mesolítica,
O impacto desse tsunami em toda a baixa costa da Doggerland deve ter sido devastador. É provável que muitos quilômetros de litoral tenham sido destruídos em algumas horas, talvez minutos, e muitas vidas perdidas: os que puxavam redes em canoas, catavam algas marinhas e lapas, as crianças que brincavam na praia, os bebês que dormiam em berços de casca de madeira. Comunidades de caranguejos, peixes, aves e mamíferos foram varridas; assentamentos costeiros obliterados — as cabanas, canoas, armadilhas de enguia, cestos de nozes e suportes para secagem de peixes, tudo esmagado e extinto.
Outra catástrofe acontecia no outro lado da Europa, a 3.500 quilômetros de distância. As vítimas foram as pessoas que viviam nas baixadas em volta do lago de água doce que era o mar Negro. Essas baixadas ofereciam solos planos e lei leis, cobertos de bosques de carvalho onde pessoas tinham caçado e coletado por vários milhares de anos. Na data desse acontecimento, porém, uma nova gente chegara: camponeses do Neolítico. Haviam partido de comunidades na Turquia, instalando-se em ricos solos aluviais; derrubaram árvores a fim de abrir espaço para campos de trigo e cevada, ter madeiras com as quais construir suas casas, cercas e currais, e para o gado bovino e caprino. A história de sua viagem e recepção pelo povo do Mesolítico fica para o capítulo seguinte. Aqui nosso interesse é pelo seu trágico fim.
O mar Negro tornara-se um lago de água doce durante a era glacial. O nível do Mediterrâneo caíra abaixo da base do canal do Bósforo, a comunicação com o mar Negro pela qual antes corria a água do mar. O canal foi bloqueado pelo aluvião. Então, quando o aquecimento global começou a derreter o gelo, o mar Mediterrâneo voltou mais uma vez a subir. À medida que fazia isso, o nível do mar Negro fazia exatamente o oposto — baixava, devido a evaporação e vazões reduzidas de rios. Quando o nível do mar se elevou acima da base do canal, o tampão de aluvião agüentou firme. Agüentou, e agüentou, como uma gigantesca muralha de água marítima acumulada na face oeste. Depois começou a vazar. E rompeu-se.
Assim, num fatídico dia por volta de 6.400 a.C., uma cachoeira de água salgada precipitou-se com a força de 200 cataratas do Niágara nas plácidas águas do lago — e continuou a fazê-lo por vários meses. O estrondo teria sido ouvido a 100 quilômetros — ecoando nos ouvidos daqueles que caçavam nas colinas da Turquia e dos que pescavam nas praias do Mediterrâneo. Cinqüenta quilômetros de água cúbica desabavam trovejando no lago todo dia, até o mar Negro e o Mediterrâneo serem mais uma vez uma coisa só. Em questão de meses, uma estonteante extensão de 100 mil quilômetros quadrados de florestas, pântanos e campos aráveis à beira do lago fora submersa — uma área equivalente a toda a Áustria.
O John Lubbock vitoriano não tivera muito conhecimento da história da mudança do nível do mar. Tempos pré-históricos não continha mais que alguns comentários sobre como, na costa dinamarquesa, há "bom motivo para supor que a terra passou os limites do mar", enquanto em outra parte a ausência dos Kokkenmoddinger (montes de concha) "foi sem a menor dúvida causada pelas ondas que em certa medida devoraram a praia".
Para sua compreensão geral da mudança do nível do mar, o John Lubbock vitoriano dependera das opiniões de Sir Charles Lyell, geólogo cujos seminais Principles of Geology [Princípios de Geologia] fora publicado entre 1830 e 1833 e Geological Evidences of the Antiquity of Man [Indícios geológicos da antigüidade do homem] em 1863. Ele citou extensamente o último livro sobre um período em que se acreditava que a terra estivesse no mínimo 500 metros acima de seu nível atual então, seguido por outro de submersão com "apenas os topos das montanhas restando acima da água", e depois por outro período de terra elevada, quando o leito do mar glacial, "com sua conchas marinhas e blocos erráticos, ficou seco". Lyell sugerira que o mais provável era que a "grande oscilação" de submersão e ressurgimento houvesse levado 224 mil anos.
O próprio John Lubbock vitoriano não acrescentou muita coisa — Tempos pré-históricos chegou simplesmente cedo demais para uma opinião mais informada. Houvesse ele escrito em fins do século XIX, talvez citasse Joseph Prestwieh, cujas estimativas de temperaturas passadas já comentara. Em 1893, Prestwich publicou indícios de uma importante ocorrência de inundação em toda a Europa no final da era glacial e antecedendo imediatamente o Neolítico. Eduard Suess, professor de geologia da Universidade de Viena, também poderia ler sido citado, pois em 1885 introduzira a idéia de uma elevação uniforme e em âmbito mundial do nível do mar.
Só na década de 1930, porém, as mudanças no nível do mar no final da era glacial começaram a ser bem documentadas. Hoje sabe-se que foram de extraordinária complexidade em algumas partes do mundo, ocorrendo com muito maior rapidez que o cálculo máximo de quase dois metros por século que Charles Lyell estava disposto a considerar. O John Lubbock vitoriano se teria, desconfio, espantado se soubesse da seqüência da mudança do nível do mar no extremo norte da Europa entre 10.500 e 8.000 a.C.
Os povos que viveram no norte da Doggerland, naquelas regiões que hoje chamamos Escócia, Noruega e Suécia, também perderam o litoral que seus pais, avós e gerações anteriores tanto haviam aproveitado. Mas em vez de tornar-se o fundo do mar, suas terras costeiras passaram a ser permanentemente secas; muito literalmente, haviam subido no mundo.
As geleiras tinham pesado muito sobre a terra, empurrando-a para baixo — e fazendo com que a do sul imediato inchasse para cima, como a ponta desocupada de um sofá. E em conseqüência, quando o gelo se levantou e foi embora, a terra nivelou-se; o inchaço baixou e a depressão se ergueu. Grande parte da Doggeland ficara no inchaço, daí o impacto do aumento do nível do mar ter-se exacerbado: enquanto a elevação se desfazia, milhões de litros de água derretida entravam nos oceanos.
Mais ao norte, onde ficavam as geleiras com todo peso antes, deu-se início a uma disputa. Qual dos dois ia erguer-se mais rápido, o mar ou a terra? Se o primeiro, as pessoas viram seus litorais inundados; se a última, as praias foram elevadas — e "praias elevadas" é exatamente o termo usado para explicar vastidões de areia e seixos encontradas nas costas do norte da Europa, hoje, em níveis jamais alcançados pelo mar.
No extremo norte, a terra foi vencedora fácil. No antigo centro das camadas de gelo, em algum ponto ao norte de Estocolmo, na costa oriental da Suécia, a terra subira mais de 800 metros desde a era glacial — e ainda não parará de subir, todo ano acrescentavam-se mais alguns milímetros — embora isso possa logo mudar com o novo aquecimento global e a elevação do nível do mar durante o século à frente.
Mais ao sul, ao longo das costas do sul da Suécia, dos Estados Bálticos, Polônia e Alemanha, o mar e a terra competiram com um pescoço de diferença, revezando-se periodicamente no primeiro lugar. Isso causou estragos em todas as Comunidades — vegetal, animal e humana, terra e água — que conseguiram estabelecer-se pouco antes de trocado mais uma vez o primeiro lugar. Sabemos parte dessa história pela obra de Svante Björck, do Instituto de Geologia da Dinamarca, que estudou as conchas achadas enterradas no fundo do mar Báltico, junto com os sedimentos, praias elevadas e florestas afundadas do litoral daquela região. O que revelaram é uma história admirável de drástica mudança geográfica, da qual apenas os destaques mais simples podem ser contados hoje.
No auge do Jovem Dryas, 10.500 a.C., o mar Báltico não era de modo algum um mar, mas um lago, o lago glacial Báltico. Suas águas beiravam o congelamento; as praias eram rocha nua ou tundra ártica. Se alguém as tivesse visitado, encontraria renas e lêmingues, mas não é provável que permanecesse por muito tempo. Uma geleira no norte e terra sólida no sul bloqueavam quaisquer caminhos de saída potenciais. A geleira formou uma represa nas terras baixas do centro da atual Suécia, enquanto a rota hoje tomada pelas águas intercambiáveis dos mares do Norte e Báltico, através da "Storebaelt" — paisagem marítima pontilhada de ilhas entre a Suécia e a Dinamarca — era alta e seca, uma massa de terra contínua. Esses países não passavam da extremidade leste da Doggerland.
Em 9.600 a.C., o lago glacial Báltico era contido por uma muralha degelo de 25 metros de profundidade. O oposto exato do que aconteceu no mar Negro 3 mil anos depois, quando as águas forçaram a entrada, em vez da saída, de um lago represado. Mas ali, como lá, a represa rompeu-se, neste caso quando o aquecimento global derreteu o gelo e enfraqueceu a muralha. O lago glacial Báltico escoou pelo centro da Suécia, desaguando no Mar do Norte e deixando pedras, saibros, areia e aluvião pelo caminho. Em poucos anos no máximo, talvez não mais que meses, a queda de 25 metros no nível da água originou uma vasta e nova extensão de litoral nas atuais costas do norte da Alemanha, Polônia e Estados Bálticos. Era um litoral composto do barro lodoso e aluviões que tão recentemente tinham formado o fundo do lago.
Quando as águas começaram a correr para o leste, o lago tornou-se um mar interior. Foi batizado com o nome de um molusco marinho, Yoldia, cujas conchas se encontram profundamente enterradas em seus sedimentos, indicando que águas salgadas agora lambiam as praias dos futuros Estados Bálticos. É provável que as pessoas fossem viver nas praias do mar de Yoldia assim que seu solo se estabilizou com as raízes de bétula e pinheiro. Surgiram ricas lagoas e pântanos em torno das fozes dos novos estuários fluviais. O povo do Mesolítico foi-se aos poucos deslocando para lá e sentindo-se em casa.
Contudo, nem bem tinham estabelecido suas comunidades, o mundo começou a mudar mais uma vez. Os que viviam nas praias do sul foram inundados pelas águas do mar em ascensão; os das praias do norte viram o mar retroceder quando a terra voltava a subir. Recuou cerca de 10 metros a cada século — uma taxa inteiramente visível no tempo de uma vida humana. Em algum ponto entre os que foram inundados no sul e os elevados no norte, deve ter havido uma área de estabilidade, o fulcro dessa gangorra entre terra e mar.
Isso continuou durante 25 gerações, cada uma das quais fez sutis alterações em seu estilo de vida, para adaptar-se ao mundo sempre em mutação. E então, cerca de 9.300 a.C., a inundação no sul tornou-se mais severa. Assentamentos foram inundados antes que as pessoas pudessem mudar-se, e temos de imaginá-las vadeando para resgatar posses valiosas. A essa altura, a água se deslocava terra adentro a uma velocidade média de 3 metros em cada geração — uma taxa que envolvia catástrofe periódica na vida das pessoas. No norte, onde ao longo das décadas elas tinham visto o mar retroceder, este agora começava a invadir a terra. Também essas pessoas tiveram de aprender a enfrentar alagamentos e inundação.
A causa do novo influxo de águas foi a nova elevação da terra; a do meio da Suécia agora se elevara tanto que bloqueara o fluxo entre os mares de Yoldia e do Norte. Mais uma vez, o Báltico tinha um lago, água sem caminho algum para escapar. Como seu volume aumentou com o influxo dos vários rios afluentes, o sal se diluiu e logo a água se tornou doce. Outro molusco, Ancylus fluviatli, foi honrado dando-se seu nome a esse lago — o lago Ancylus — as conchas encontradas nos sedimentos do Báltico acima do nível do Yoldia. Mais uma vez, todas as coisas vivas tiveram de adaptar-se, migrar ou morrer — incluindo comunidades humanas, que agora passavam a caçar aves selvagens entre os juncos, em vez de pescar bacalhau em caiaques.
Tiveram cerca de trezentos anos — talvez dez gerações — para fazer a mudança, antes que houvesse outra virada. A partir de 9.000 a.C., começaram a ver os alagados e as lagoas secarem, as margens retrocederem das plataformas de pesca à beira do lago. Novas extensões de aluvião e areia foram expostas, e surgiram novas oportunidades para plantas e insetos pioneiros.
O lago Ancylus encontrara uma vazão para o Mar do Norte. Certamente precisava de uma, pois seu nível tornara-se 10 metros mais alto que o do mar. Esse deságüe não foi tanto encontrado quanto forçado, na forma do rio Dana, que cortava seu caminho pela baixada da Storebaelt, criando em alguns lugares um verdadeiro desfiladeiro através de sedimentos macios de mais de 70 metros de profundidade. Terras cultiváveis às margens de rios, turfas e assentamentos humanos foram levados pelas águas ou enterrados por areia e saibro transportados por uma torrente d'água. Durante duzentos anos, o escoamento continuou a passo acelerado, até o lago Ancylus nivelar-se com o mar. E então começaram os meandros, à medida que riachos e rios atravessavam as matas e contornavam promontórios da Storebaelt.
A ocorrência final nessa admirável história foi a inundação da Storebaelt. Esta começou em 7.200 a.C. e foi causada pelos estágios finais do aumento do nível do mar que o levaram ao seu nível atual, criando a conhecida geografia da Escandinávia e do Báltico. O mar interior criado nessa época recebeu o nome do molusco litorina (Littorina), cujas conchas são encontradas não apenas em sedimentos acima das do Ancylus fluviatli, mas também continuam a enfeitar hoje as costas do mar Báltico. Seguiu-se outro ciclo de readaptação, com a volta de alagamentos e inundações — mas as novas enchentes foram de natureza tão gradual que raras vezes se percebeu. Os estilos de vida humana foram aos poucos remodelados mais uma vez para os que moravam próximos ao mar.
18
Duas Aldeias no Sudeste da Europa
Caçadores-coletores sedentários e agricultores imigrantes,
6.500 – 6.200 a.C.
Viagens de pesca, churrascos e florestas de pinheiro após a chuva — lembranças misturadas trazidas pelo persistente cheiro de fumaça de lenha. John Lubbock acorda num duro piso de reboco na estreita extremidade de uma habitação em forma de tenda. Ao sentar-se e olhar para fora, vê um rio largo com íngremes encostas arborizadas abaixo de penhascos de calcário. O sol acabou de levantar-se. Ele ouve passos e vozes.
As paredes de palha da moradia erguem-se até um comprido pau de cumeeira do qual pendem cestos de vime e arpões de osso. Blocos de calcário cercam um fosso no chão contendo as cinzas ainda quentes de lenha de pinheiro, onde embrulhos de peixe foram assados na noite anterior. Há gamelas com água e ervas em cima das lajes do piso perto da entrada. Lubbock vira-se e encontra o silencioso olhar de uma rocha arredondada do rio, esculpida com olhos esbugalhados, lábios inchados e um corpo coberto de escamas. É do dono da casa.
Saindo, ele constata que a sua é apenas uma das vinte e poucas choupanas dispostas num terraço acima do rio. Uma aldeia de caçadores-coletores — a primeira de suas viagens européias. A princípio, o faz lembrar-se de Ain Mallaha e Abu Hureyra, no oeste da Ásia, em 12.500 a.C. Mas um segundo olhar mostra-a muito diferente — canoas atracadas e redes penduradas para secar. É uma florescente aldeia de pescadores, enquanto a cidade de Ain Ghazal sofre colapso econômico.
Algumas pessoas trabalham e outras se acham ociosamente em pé ou sentadas em pequenos grupos, aproveitando os primeiros raios de sol da manhã. Conversam sobre o tempo, planos de pesca e os filhos. Atrás da aldeia, pequenas trilhas sobem íngremes por entre aveleiras baixas até uma floresta de carvalhos, olmos e limoeiros, conduzindo aos pinheiros e altos penhascos. Uma águia paira acima no céu azul-claro, e cormorões sobrevoam a água. É o amanhecer em Lepenski Vir, 6.400 a.C.
Sentado junto ao rio, Lubbock lembra a viagem desde La Riera, no norte da Espanha — uma importante caminhada pelo sul da Europa. Vários dos locais de acampamento que partilhou com os ocupantes mesolíticos passaram a ser conhecidos como sítios arqueológicos. Muitos outros jamais serão encontrados — talvez destruídos por assentamentos posteriores ou enterrados no fundo aluvial do delta do Ródano e na bacia do Pó. Ainda outros esperam ser descobertos.
Lubbock escalara os Pireneus e encontrara os cumes redondos cobertos de capim cedendo lugar a pedras lascadas, o horizonte tornando-se cada vez mais alto e fraturado com o avanço diário para leste. Nos Pireneus centrais, acampara com caçadores de cabras selvagens a mil metros, na base de um grande anfiteatro natural conhecido hoje como Balma Margineda. Após capturar cabras selvagens com os homens, Lubbock juntou-se às mulheres na pesca de trutas e coleta de amoras pretas. Mais 200 quilômetros de caminhada levaram-no a Roc del Migdia, uma caverna na base de um penhasco dentro de uma densa floresta de carvalho, no que é hoje a Catalunha. Após ajudar a encher os cestos de seus ocupantes com bolotas, avelãs e abrunhos, sentou-se com eles para olhar os abutres sobrevoando em círculos preguiçosos nas correntes termais.
A jornada de Lubbock pelo sul da França envolveu caminhadas ao longo de praias arenosas, caronas em canoas pelos pântanos do delta do Ródano, desvios para o interior quando o mar inundava a base de penhascos de calcário branco-creme ou pórfiro de intenso vermelho-escuro. Embora houvesse uma imensa variedade de árvores e plantas, nenhuma delas impressionou então o visitante - limoeiros, laranjeiras, oliveiras, palmeiras e mimosas. Essas árvores eram todas recém-chegadas à Riviera. Lubbock alegrou-se com sua ausência quando cederam o espaço a canteiros de lilases silvestres e madressilvas que despontavam nos barrancos de calcário, onde ele ouvia torrentes estrondosas e nascentes explodindo do chão.
Após percorrer as baixadas pantanosas do norte da Itália, lugares preferidos de pessoas que montam armadilhas para peixes e captura de aves selvagens, Lubbock mais uma vez subiu as montanhas, os picos cobertos de pinheiros, dos Dolomitas italianos. Fez isso seguindo as trilhas de caçadores, que por sua vez seguiam o veado-vermelho rumo aos pastos de verão. A 2 mil metros, chegou ao acampamento deles, abaixo da saliência de uma enorme rocha — ali deixada ao acaso por uma geleira há muito desaparecida. Este sítio é hoje conhecido como Mondeval de Sora. Quando escavado em 1986, encontrou-se o túmulo de um homem — um caçador posto na cova com uma série de artefatos de pedra e bijuterias esculpidas em presas de javali e dentes de gamo. Dos Dolomitas, Lubbock seguiu para o sul pela colinas ondulantes e vales profundos da Croácia. Ali dividiu pequenas cavernas com grupos de caça que vigiavam os fundos do vale à procura de presas e lascavam novas pontas de pedra para suas armas de caça.
Ao sair das montanhas e colinas, Lubbock viajou para as margens do sul da planície húngara e ali aliviou as pernas cansadas adotando novo meio de transporte: uma canoa feita de um tronco escavado. Encontrou uma à deriva; na certa soltara-se da amarração rio acima. Por 800 quilômetros viajou ao longo dos rios do sudeste da Europa, passando breves temporadas nas florestas em volta, com caçadores no encalço de javalis e ajudando pescadores de passagem a puxar suas redes.
Em algum ponto dessa viagem aquática, a canoa de Lubbock entrou no Danúbio. O rio corria preguiçosamente entre colinas cobertas de árvores, às vezes dando uma volta por um ou dois quilômetros e depois serpeando de volta entre salgueiros e álamos. Acabou passando entre penhascos íngremes e Lubbock entrou na primeira das grandes gargantas tipo desfiladeiro hoje chamadas Portas de Ferro. Foi então que surgiram grupos de moradias, espraiados ao longo dos terraços acima do rio. Pareciam muito diferentes das choupanas de palha cerrada que ele vira em outros lugares da Europa do Mesolítico, e assim, tarde numa noite, atracou e subiu a margem. Era uma noite sem lua, nublada, e as moradias surgiram como sombras curiosas, artificiais em sua geometria de criação humana. Ao encontrar fogueiras ainda quentes com cinzas, ratos e camundongos, ele percebeu que toda a aldeia dormia.
Os ocupantes adormecidos de Lepenski Vir são caçadores-coletores que se "assentaram" num estilo de vida sedentário. A mata sobreviveu no vale do Danúbio durante todo o LGM, sobretudo zimbros e salgueiros, mas também pequenos renques de carvalho, olmo e limeira, que ajudariam a semear o resto da Europa. Caçadores da era glacial faziam visitas periódicas ao vale para tocaiar cabras selvagens e pescar salmão, mas nunca permaneciam por muito tempo. Quando o clima se tornou mais quente e as chuvas mais freqüentes, brotaram as grandes folhas. As árvores escalaram as encostas das montanhas e geraram densa floresta, com grande abundância de caça e plantas comestíveis. Veados-vermelhos e javalis, lontras e castores, patos e gansos tornaram-se acréscimos na alimentação da era glacial. E assim as pessoas passaram a chegar com maior freqüência às Portas de Ferro e a ter menos vontade de deixá-las. Chegavam a seus supostos acampamentos no início do outono e ficavam até o final da primavera. Esses assentamentos começaram a fundir-se com o que tinham sido antes acampamentos de pesca de curta temporada. Em 6.500 a.C., as pessoas não viram mais necessidade de até mesmo deixar o rio; o que tinham sido acampamentos temporários passou a ser as primeiras aldeias permanentes nas margens do Danúbio.
John Lubbock vagueia por Lepenski Vir, entrando e saindo das moradas. Embora variem de tamanho, partilham o mesmo formato e mobiliário. Pedras talhadas com faces que parecem parte peixe e parte humana acham-se instaladas um tanto melancolicamente dentro de cada choupana. Muitas vezes estão ao lado de estruturas de pedra que parecem altares, suportadas por seixos com incisões de desenhos geométricos. Na cabana maior, localizada no centro da aldeia, alguns amuletos de osso e uma flauta repousam sobre uma laje. Esta cabana fica junto a um espaço aberto, onde o chão parece batido por pés dançantes. Embora ritual, religião e apresentações sejam sempre parte integrante da vida dos caçadores-coletores, têm aqui uma presença mais penetrante que em qualquer outro assentamento visitado por Lubbock. Para onde ele olha, há pilhas de flechas com pontas de pedia, arpões de galhada, flutuadores e pesos de rede, cestos de vime, pilões e almofarizes de pedra.
Essa variedade de equipamentos testemunha as diversas e abundantes comidas existentes para os habitantes de Lepenski Vir — não apenas carne e peixe, mas nozes, fungos, bagas e sementes. Apesar da diversidade gastronômica, porém, várias crianças que brincam nas partes rasas do rio parecem subnutridas. O raquitismo predomina na aldeia e alguns dos pequenos exibem estrias horizontais nos dentes — linhas onde o esmalte não se desenvolveu devido à saúde debilitada. A realidade é que a criatividade arquitetônica e artística em Lepenski Vir caminha junto com períodos de escassez de comida.
Três mulheres estão no meio da construção de uma casa. Fizeram uma plataforma em forma de trapézio com uma mistura de calcário triturado cozido, areia e saibro, em volta de blocos de pedra dispostos para formar a lareira central, Diante de Lubbock, elas param para desenrolar uma trouxa de couro, revelando o corpo decomposto de um bebê. Os ossos pendem uns dos outros, frouxamente unidos por ligamentos e fragmentos de pele amarela seca.
O corpo é enterrado e vedado no chão. O maxilar de um adulto é retirado de outro embrulho e posto entre duas pedras da lareira. Após não mais que uma pequena pausa, recomeça a atividade prática da obra de construção: estacas são lixadas em buracos para sustentar a cumeeira que logo será erguida e posta no lugar. Para Lubbock, as mulheres parecem ter passado do secular ao religioso e refeito o caminho inverso; mas para elas, essas divisões não têm significado algum. Seguem simplesmente com a vida, uma vida em que todo ato, todo artefato e todo aspecto do mundo natural são tão sagrados quanto profanos.
A vida em Lepenski Vir revolvia em torno do rio. Este fornecia comida, era a rodovia do Mesolítico, seu fluxo simbolizava a passagem do nascimento à morte. Pelo menos, é essa a crença de Ivana Radovanoviae, arqueóloga de Belgrado que empreendeu a tarefa de tentar ler o código simbólico tão entremeado na vida cotidiana quanto os enterros cerimoniais e as comemorações sazonais de Lepenski Vir.
Ivana era aluna de Dragoslav Srejovic, arqueólogo iugoslavo que descobriu e depois escavou Lepenski Vir entre 1966 e 1971. Ele descobriu o sítio quando fazia o levantamento das margens do Danúbio, antes da construção de uma represa em 1970 — obra que ia submergir as margens e tudo nelas oculto. Esse é apenas um dos vários sítios nas duas margens do rio que partilham arte e arquitetura semelhantes — outros incluem Hajducka, Vodenica, Padina e Vlasac. Alguns foram acampamentos sazonais, e não aldeias permanentes; Lepenski Vir talvez tenha sido até um centro cerimonial.
Srejovic escavou muitos túmulos em Lepenski Vir. Os de crianças eram em geral feitos dentro das moradas, enterrados embaixo do chão ou em lareiras e construções de pedra que Srejovic julgou serem altares. Os adultos, em geral homens, eram enterrados entre as casas. Crânios e maxilares de boi selvagem, gamo ou outros seres humanos eram às vezes colocados com os mortos, junto com artefatos e colares feitos de contas de caracóis.
A maioria dos túmulos adultos tinha a cabeça apontada rio abaixo, para que o rio levasse seu espírito — ou assim acredita Ivana. Ela acha que o rio também simbolizava o renascimento, pois toda primavera as belugas — gigantescos esturjões brancos ainda reverenciados hoje como produtores do melhor caviar — subiam o rio para a desova. Sua chegada devia ser impressionante, uma procissão de monstros fluviais que alcançam até 9 metros de comprimento: espíritos dos mortos renascidos, segundo Ivana, tornados reais pelas esculturas que misturavam peixe e ser humano num único ser.
Lubbock sai de Lepenski Vir numa tarde de verão, sob o barulho de redes içadas da água, estacas marteladas no chão e vozes humanas conversando. Dirige-se para o sul pela exuberante floresta das colinas balcânicas, caminhando sobre um tapete de folhas, pinhas, bolotas, nozes-de-galha, frutos da faia e cascas de castanhas quebradas. Encontra gamos pastando em ensolaradas sendas na floresta; farejando o cheiro dele, eles se lançam numa lufada de ancas brancas no meio do mato baixo. Um gamo de galhada igual a um candelabro lança um olhar severo, antes de acompanhá-las num trote majestoso de seus cascos hábeis e reluzentes.
Lubbock é agora um exímio leitor dos sinais de caça, ao contrário de quando iniciou suas viagens européias atravessando a tundra rumo a Creswell Crags, analfabeto na linguagem de pegadas e montes de cocô. Testa-se seguindo os rastros de gamos e calculando onde os javalis irão alimentar-se. Sabe onde encontrar ninhos para pegar ovos, quais fungos coletar e quais deixar. Na verdade, sente-se muito confiante em poder viver da caça e coleta nessas matas e pergunta-se porque ninguém mais optou por fazê-lo: é total a ausência de pessoas e sinais de sua presença. Em momento algum de suas viagens européias lembra-se de ter seguido durante tanto tempo sem encontrar um único acampamento ou caverna ocupada.
Essa escassez de sítios mesolíticos no sudeste da Europa, desde o Danúbio até o mar Mediterrâneo, tem sido uma considerável preocupação para os arqueólogos. Houve ali uma verdadeira ausência de assentamentos? Foram os sítios do Mesolítico destruídos, ou alguns ainda precisam ser descobertos? Na Grécia, por exemplo, mal chegam a 12 os sítios do Mesolítico, embora haja centenas do Neolítico, milhares de períodos posteriores e muitos mais de períodos anteriores da evolução humana. Catherine Perlès, a principal estudiosa da Grécia do início da pré-história, recentemente avaliou todas as razões possíveis para a raridade de sítios mesolíticos e concluiu que isso deve na verdade refletir uma população muito pequena, que se baseava quase inteiramente na costa.
Após uma caminhada de cerca de 400 quilômetros desde Lepenski Vir, Lubbock chega à planície da Macedônia no norte da Grécia. Chega no ano de 6.300 a.C. e senta-se no galho de um robusto carvalho para ver as idas e vindas de um tipo de aldeia bastante diferente. Um aglomerado de casas estende-se numa clareira no topo de um pequeno outeiro; o terreno de um lado é pantanoso, do outro dividido por caminhos entrecruzados e cercas que definem pequenas hortas, cujas plantas acabaram de brotar. As casas, 10 ou 12 ao todo, são retangulares, com telhados de olmo e beirais projetados para fora.
Uma está sendo construída: feixes de juncos amarrados entre estacas cortadas de árvores novas. Embora essas casas sejam muito maiores e mais consistentes que as de Lepenski Vir, são os simples cercados de madeira anexos às paredes externas que despertam o interesse de Lubbock — ou, melhor, o que eles contêm. Saltando da árvore, ele se aproxima da aldeia por um atalho que sai da mata para uma abertura num baixo muro de barro que o circunda. Curva-se para examinar as plantas que brotam nas hortas. Algumas — trigo ou cevada — têm folhas que mal começam a abrir-se em volta do caule; outras — ervilhas ou lentilhas — finos talos com folhas claras redondas. Mulheres e crianças também se curvam, arrancando as ervas daninhas em volta dos brotos. Lubbock puxa uns punhados de capim — não como um gesto de ajuda, mas para alimentar os carneiros, que mais parecem cabras, parados dentro dos cercados de madeira.
Lubbock está para entrar num das primeiras aldeias agrícolas da Europa, aquela que os arqueólogos chamarão Nea Nikomedeia. Várias gerações de camponeses já viveram e morreram nessa aldeia. Seus fundadores talvez tenham vindo de outros assentamentos agrícolas da Grécia; ou da Turquia ou Chipre — talvez direto do próprio oeste da Ásia.
Foi do oeste da Ásia que desembarcaram outrora os primeiros agricultores a chegar à Europa, após carregarem seus barcos, com sementes de milho e carneiros e cabras devidamente amarrados. Alguns tinham cruzado o Egeu até as baixadas da Grécia; outros foram para Creta e a Itália. Derrubaram florestas, puseram seus carneiros e cabras para pastar, construíram suas casas e deram início a um novo capítulo na pré-história européia.
Os primeiros camponeses chegaram à Grécia por volta de 7.500 a.C. e encontraram uma paisagem em grande parte desabitada. Só na vizinhança da Caverna Franchthi, no sul de Argolid, houve uma substancial presença mesolítica. É a caverna onde Thomas Jacobsen encontrou vestígios de uma rica dieta vegetal e de comidas litorâneas, sobretudo depois que a beira-mar quase chegara à entrada da caverna. Nas camadas superiores da Caverna Franchthi, contemporâneas dos primeiros assentamentos agrícolas, Jacobsen encontrou algumas sementes de trigo, cevada e lentilhas domesticadas, mas estas eram muito ultrapassadas em número pelos restos de plantas selvagens. Ossos de carneiro, cabra e porco tinham-se, porém, tornado predominantes, indicando que o povo do Mesolítico começara roubando os assentamentos agrícolas para criar rebanhos e manadas próprios. Mas isso causou pouco impacto em seu modo devida: instrumentos de pedra, práticas de enterro, atividades de caça e coleta continuaram na Caverna Franchthi sem quase mudança alguma.
Os camponeses e caçadores-coletores viveram lado a lado durante pelo menos todo um milênio. Tinham pouco a ver uns com os outros; as planícies aluviais, que proporcionavam solos férteis para os camponeses, eram de pouco interesse para os caçadores-coletores que dependiam das florestas e do litoral.
Mas essa coabitação no sul da Grécia não poderia sobreviver. Por volta de 7.000 a.C., surgiram vários novos assentamentos — um dos quais Nea Nikomedeia. Se foram construídos por uma germinante população local ou por uma nova onda de imigrantes, ainda não se sabe ao certo. A última possibilidade talvez seja a mais provável, pois surge uma excelente cerâmica — coisa não encontrada na Grécia antes dessa data.
Os depósitos finais na Caverna Franchthi contêm cerâmica e artefatos de pedra mais semelhantes aos encontrados nos assentamentos agrícolas que os situados nos níveis inferiores da caverna. As casas foram construídas diante da entrada e tratos criados para plantar colheitas. A cultura agrícola finalmente esmagara os caçadores-coletores da Franchthi mesolítica.
Eles podem ter abandonado a caverna aos novos agricultores, reduzindo-se aos poucos em número e extinguindo-se. Talvez tenham eles próprios decidido tornar-se agricultores. Ou as duas populações se ligaram tão estreitamente por casamento e reprodução interna que nem sequer sabiam mais qual era qual. Nessa confusão do que aconteceu ao povo do Mesolítico da Caverna Franchthi, encontramos a futura história do continente europeu como um todo.
O interior da casa em que Lubbock entrou em Nea Nikomedeia é escuro e silencioso, o ar rançoso e enfumaçado — bem diferente da morada clara e fresca de Lepenski Vir. Caminhando pela aldeia, ele fizera uma pausa para ajudar os membros de uma família a cobrir de barro os feixes de junco e troncos recém-cortados que formavam as paredes de sua nova casa. Agora descobre como são eficazes essas paredes, criando um espaço isolado do mundo externo.
Vasos de cerâmica e cestos de vime estão empilhados junto às paredes, tapetes de junco e couros espalham-se pelo chão. Uma plataforma de reboco, cerca de 10 ou 20 centímetros acima do chão, tem uma bacia rasa com um fogo ardendo. A fumaça infiltra-se no telhado de colmo, matando insetos e impermeabilizando os juncos. Uma mulher senta-se junto ao fogo, torcendo fibras para fazer um bolo de cordão. Pára para empurrar as cinzas e depois atiçá-las. A fivela de osso que prende seu cinto parece conhecida — Lubbock lembra-se de que viu uma de desenho semelhante em Çatalhöyük.
Encontrar cerâmica é mais uma inédita "primeira vez" nessa viagem européia — todos os vasos anteriores eram feitos de trabalho em madeira, pedra ou vime. Os vasos que ele vê em Nea Nikomedeia são de várias formas e tamanhos, variando de alguidares abertos a grandes vasos de estocagem com bocas estreitas. Alguns são simples; outros pintados com desenhos geométricos em vermelho. Uns poucos têm marcas de dedos ou até rostos humanos no barro: os narizes são modelados com beliscões e os olhos pequenos ovais. Vários são grandes e trabalhados; Lubbock imagina que sejam usados para diversão.
Um prédio maior, mais de 10 metros quadrados, localiza-se numa posição central. É escuro dentro, sem qualquer indício de vida doméstica e presença humana, Há estatuetas de barro sobre mesas de madeira. A maioria é de mulheres - moldadas para terem cabeças cilíndricas, narizes pontudos e olhos rasgados. Com os braços cruzados, cada mão agarra um seio, feito de uma pequena protuberância de barro. O tamanho diminuto dos seios é compensado por coxas enormes, quase esféricas. Ao lado dessas figuras, vêem-se alguns modelos toscos de carneiros e cabras, e, em contraste, três imagens polidas de rãs, belamente esculpidas em serpentina verde e azul.
Lubbock deixa a aldeia e retorna ao seu assento elevado na floresta, preferindo ver a aldeia de certa distância. Poucos dias depois, começa a entender como a vida funciona ali. Cada família é auto-suficiente; cuida de sua própria horta, trata de seu próprio gado e faz suas próprias cerâmica e instrumentos. Ao mesmo tempo, essa independência familiar é equilibrada por uma cultura de hospitalidade, usando-se as lareiras do lado de fora para refeições comunais.
O tempo começa a passar mais depressa: os carvalhos atingem pleno florescimento quando as colheitas amadurecem; as folhas tornam-se marrom e caem quando vem a colheita. Durante o inverno, Lubbock atravessa toda a chuva, quando o pântano se transforma num lago e depois verte suas águas nas hortas, depositando uma camada de excelente aluvião para fertilizar as lavouras do ano seguinte. Quando surgem os brotos de carvalho, as pessoas de Nea Nikomedeia voltam a suas hortas com pás e enxadas, revolvendo o solo antes de replantá-las.
Lubbock vê quando chegam visitantes trazendo pedras, conchas e trabalhadas cerâmicas para trocar. Vê os mortos da aldeia sendo enterrados em sepulturas não demarcadas ou nos escombros de casas abandonadas. Parece uma atividade pragmática — livrar-se de um corpo com a mais limitada cerimônia possível, sem ritual junto à sepultura nem as oferendas enterradas com os mortos. Mas as pessoas entram e saem regularmente do prédio central que abriga as estatuetas e parece ser um santuário. Às vezes chegam várias juntas, e Lubbock ouve cânticos e músicas lá dentro. Ele desconfia de que novas estatuetas são introduzidas, e outras retiradas e quebradas — mas de longe não obtém muita compreensão da vida religiosa de Nea Nikomedeia.
Bolotas caem, plantas brotadas de sementes germinam e têm sua vida desdenhada pelas mordidas dos dentes dos gamos; quaisquer rebentos sobreviventes são logo cortados e levados para a aldeia. Com o passar do tempo, Lubbock vê toda uma colheita ser abortada devido a um inverno seco com geadas tardias, e as pessoas matam relutantes carneiros e cabras para sobreviver. As amizades entre as famílias, mantidas pela constante hospitalidade, ajudam em tempo de necessidade: quando há escassez de comida numa família, esta sempre pode contar com a oferta de uma outra.
A impressão dominante de seu posto na floresta é de que a vida em Nea Nikomedeia é dura: cultivar campos, capinar, aguar, moer sementes, cavar barro, abrir clareira no mato. O trabalho parece ter falta de braços mesmo quando se pressionam as crianças a capinar e espalhar estrume. Lubbock lembra-se dos caçadores-coletores de Lepenski Vir, La Riera, Gönnersdorf e Creswell Crags, nenhum dos quais parecia trabalhar mais que algumas horas por dia. Para eles, a chave da barriga cheia era conhecimento, não mão-de-obra: onde estava a caça, onde amadureciam os frutos, como caçar javali e pescar cardumes.
Com o passar dos anos ali, Lubbock vê a construção de novas casas e crescer o número de hortas. O tamanho das aldeias em toda a planície macedônia cresce de modo semelhante e logo chega aos limites de população. Os solos existentes em volta de Nea Nikomedeia não podem mais sustentar as pessoas, e por isso um grupo de família parte em busca de nova terra. Com um rebanho de cabras e alguns bacorinhos desgarrados, rumam para o norte, visando a criar um novo povoamento na primeira planície aluvial que avistarem.
Os camponeses foram "saltando" de uma planície fértil para outra, percorrendo todos os Bálcãs e chegando à planície húngara, onde se desenvolviam novas culturas agrícolas. Assentamentos agrícolas haviam-se estabelecido a não mais de 50 quilômetros de Lepenski Vir, sua presença levando a um florescimento inicial e depois ao colapso de sua cultura mesolítica. Algumas das pessoas de Lepenski Vir, mais provavelmente os velhos, aprimoravam as tradições artísticas como um meio de resistir aos novos camponeses e seu modo de vida. Fizeram-se novas esculturas de pedra, cada vez maiores e mais impressionantes entre as que Lubbock já vira. Eram colocadas mais próximas das entradas das casas, em vez de escondidas dentro.
Mas para outras, mais provavelmente os jovens, os assentamentos agrícolas proporcionaram novas idéias e oportunidades de comércio. O destino de Lepenski Vir era inevitável: surgia um número cada vez maior de vasos de cerâmica em meio a armas de caça e redes de pesca; suas pessoas foram seduzidas pelo modo de vida agrícola. Alguns bons motivos explicam isso: carneiros, gado e trigo podiam preencher as lacunas alimentares criadas pelos períodos de escassez de comidas selvagens, que tinham deixado as crianças subnutridas. Mas muito em breve as mesas de cozinha já tinham virado — os alimentos selvagens passaram a ser suplementos de uma dieta de cereais e ervilhas.
Lubbock também deixa Nea Nikomedeia. Viaja para as praias do mar Negro, recentemente inundado após o rompimento do Bósforo. Há imensas áreas de florestas submersas, faixas de aluvião, campos de grandes pedras e troncos arrancados. Lubbock continua pelo noite até os vales do Dniester e Dnieper, ainda intocados pelo novo modo de vida agrícola. Ali encontra aldeias de caçadores-coletores em meio a densa floresta, e os primeiros cemitérios de sua jornada européia — um sinal do que está por vir. Enterrados sob os sedimentos fluviais desses vales, encontram-se os vestígios de casas de ossos de mamute que foram ocupadas no LGM, quando a paisagem era tundra árida.
À medida que Lubbock avança mais para o norte, a paisagem começa a mudar. As matas de folhas largas com luxuriante vegetação baixa de arbustos dão lugar a sombrias florestas de coníferas inteiramente estéreis sob as árvores. Alces substituem veados-vermelhos e ursos os javalis. Aldeias permanentes de caçadores-coletores dão lugar aos mais conhecidos sítios de acampamento transitórios de pessoas cujo senso de lugar é uma floresta integral, uma cadeia de montanhas, uma série de lagos ou mesmo todas as três coisas misturadas, em vez de uma faixa de terreno culturalmente demarcada. Lubbock continua a percorrer a pé e de barco infindáveis baixadas pantanosas, enquanto as estações giram e tornam a girar, até, exatamente 2 mil quilômetros ao norte de Lepenski Vir, ele chegar a uma praia lacustre da qual canoas partem para uma ilhota. Pega uma carona.
Nea Nikomedeia foi inteiramente abandonada por volta de 5.000 a.C. — talvez devido ao esgotamento do solo em volta ou doença endêmica causada por quantidades esmagadoras de dejetos humanos. Uma vez deserta, os prédios finais desabaram; as madeiras decompuseram-se, o reboco de barro foi levado pelas águas ou se desfez aos ventos; ou simplesmente compactaram-se no terreno. Os fossos foram entulhados pelo aluvião; areia transportada pelo vento enterrou lareiras, buracos de estacas e montes de lixo.
Quando a natureza reclamou o que era seu, Nea Nikomedeia tornou-se um pequeno tell; uma vez coberta pelo matagal e areada pelo sol, o vento e a chuva, passou a parecer pouco diferente dos vários monturos naturais na planície macedônia. Próximo ao século XX, o monturo de Nea Nikomedeia foi cercado por pomares e campos de cultivo de algodão e beterraba. Em 1953, quando uma máquina de terraplenagem começou a aplainar a terra para a construção de uma estrada, cacos de cerâmica desceram rolando de um corte no monturo, fazendo o Serviço Arqueológico da Grécia interromper a obra. Em 1961, os gregos iniciaram uma escavação conjunta com a Universidade de Cambridge, chefiada por Robert Rodden. Ele foi ajudado por Grahame Clark, cujo coração, desconfia-se, jamais deixara os caçadores mesolíticos de Star Carr enquanto ele escavava no calor do sol do Mediterrâneo.
19
As Ilhas dos Mortos
Enterro e sociedade mesolíticos no norte da Europa,
6.200 – 5.000 a.C.
A canoa desliza pelas águas paradas, imagens refletidas de espruces, lariços e do céu azul-aço. A água esparrinhada pelos remos é gélida; o sol está no zênite. As florestas são deixadas para trás à medida que a canoa se aproxima da ilha. Ali será enterrado o corpo que a canoa leva, e atrás do qual se espreme Lubbock. É de um homem, vestido, como enquanto vivia, de peles, um colar de dentes de alce, um pingente de presa de urso, uma faca de sílex presa ao cinto. Esta é a última de suas várias viagens nas vias navegáveis e matas do norte da Europa. Ele agora precisa juntar-se aos seus ancestrais, que habitam a ilha dos mortos.
Lubbock dirige-se para Oleneostrovski Mogilnik — o cemitério da Ilha do Gamo — no meio do que é hoje o lago Onega, no noroeste da Rússia. A data é 6.200 a.C. A canoa, remada pelos filhos do morto, é uma das várias que se aproximam da ilha. O enterro oferece um pretexto para as pessoas se reunirem após um rigoroso inverno no norte da floresta, e elas vêm de todos os lados. Precisam pôr-se a par dos mexericos, trocar sílex, peles, histórias e discutir planos futuros: quem vai a que lugar para o verão, por quanto tempo e com quem. Também precisam assegurar que os mortos passem em segurança para o mundo dos espíritos e ancestrais.
Em 1939, Vladislav Iosifovich Ravdonikas, diretor do Instituto Estadual de História e Cultura Material da Rússia stalinista, recebeu os resultados das escavações empreendidas em Oleneostrovski Mogilnik das mãos de sua assistente e protegida, I.I. Gurina. Ela começara a trabalhar em 1° de junho de 1936, encontrando a ilha coberta de espruces e lariços. Entre as árvores havia grandes covas onde os locais tinham recentemente escavado areia e saibro, outrora depositados pelas grandes geleiras do norte. Chamavam-na "a ilha dos mortos" devido aos ossos humanos que sua escavação revelara. Muitas sepulturas tinham sido escavadas por curiosidade e em busca de tesouros. Mas as esperanças de encontrar ouro e prata logo foram desfeitas. Gurina encontrou tesouros arqueológicos de um tipo muito diferente. Associados aos túmulos humanos havia jóias feitas de dentes e ossos de animais, estatuetas esculpidas de alces e cobras, facas de sílex, pontas de osso e artefatos de sílex.
Durante três temporadas de trabalho de campo, ela escavou 170 túmulos. Alguns continham esqueletos bem preservados; outros apenas fragmentos de osso humano. Alguns tinham grandes quantidades de enfeites c ferramentas, e outros poucos ou nenhum. Homens, mulheres e crianças tinham sido enterrados na ilha. Dezoito covas continham dois indivíduos, e algumas três. Gurina calculou que o cemitério tinha 500 túmulos ao todo. Teria escavado mais, se seu campo de trabalho não tivesse sido terminado por segurança de estado em 1938, quando se finalizavam os planos para a invasão soviética da Finlândia — o lago Onega ficava en route.
Os resultados do trabalho de Gurina causaram um dilema para Ravdonikas. As dimensões e a riqueza do cemitério de Oleneostrovski Mogilnik indicavam que seus habitantes tinham sido camponeses — pelo menos assim era se se seguisse a teoria marxista de evolução social e cultura material. Como trabalhava na Rússia de Stálin e faziam-se observações para confirmar o padrão de evolução social estabelecido por Frederick Engels, Ravdonikas tinha simplesmente de segui-la. O comunismo primitivo passara supostamente por dois estágios: a fase do Clã Inicial, de caçadores-coletores completamente nômades, e a fase do Clã Tardio, de agricultores sedentários e criadores de animais, quando as pessoas viveram pela primeira vez em comunidades e adquiriram bens materiais. Onde se encaixa Oleneostrovski Mogilnik nisso? Na complexidade social sugerida pela fase do Clã Tardio, que Ravdonikas datou de 2.000 a.C. Mas onde, pois, ficavam a cerâmica obrigatória e os animais domésticos?
A solução dele — e a ainda preferida por muitos arqueológicos hoje quando perdidos em busca de uma explicação — foi o "ritual." As pessoas de Oleneostrovski Mogilnik deviam ter proibições rituais referentes à colocação de cerâmica e os ossos de animais domésticos nas sepulturas de seus mortos. Então o problema fora resolvido, e a visão Engels permanecia intata.
Ravdonikas estava inteiramente errado. As pessoas na canoa de Lubbock jamais tinham ouvido falar de cerâmica nem tido a menor idéia de um animal doméstico. Viveram no mínimo 4 mil anos antes do que propusera Ravdonikas, usando a ilha como cemitério entre 6.700 e 6.000 a.C.
As canoas chegam e são puxadas para a praia. A ilha é muito pequena, apenas 2,5 quilômetros de comprimento por menos de um de largura, e coberta de espruces e lariços. O corpo é posto numa maca, e sem uma palavra as pessoas avançam ao longo de um caminho entre as árvores. Lubbock segue-as, chegando a uma clareira onde cerca de cinqüenta pessoas já se acham reunidas. É o cemitério. Baixos montes de solo arenoso indicam enterros anteriores; alguns parecem recém-cavados, e outros são invadidos por rebentos e mudas. Uma nova cova foi cavada; como as outras, é muito rasa e no sentido leste-oeste. Começam os ritos do enterro e Lubbock fica com o grupo dos espectadores, vendo o xamã em ação. O corpo é posto na sepultura, a cabeça na ponta leste e os bens do morto colocados a seu lado: uma faca de sílex, pontas de osso, artefatos de sílex. As pessoas agora se dispersam para as fogueiras nas bordas do cemitério, para trocar idéias. Lubbock fica perto da sepultura, imaginando a vida do morto. Em apenas pouco mais de 8 mil anos, muito depois de as roupas e da carne terem-se desfeito em nada, Gurina escavou seu corpo. Retirou com todo cuidado cada osso e artefato; também imaginou que homem fora aquele.
Quase cinqüenta anos depois de Ravdonikas interpretar os resultados de Gurina, fez-se uma segunda tentativa. Desta vez foi feita por dois arqueólogos não dominados pelos cânones da teoria marxista: John O'Shea, da Universidade de Michigan, especialista em análise de cemitérios, e Marek Zvelebil, da Universidade de Sheffield, principal expert em caçadores-coletores do norte da Europa mesolítica.
Eles tomaram a informação de Gurina e empregaram sofisticados métodos estatísticos para classificar os túmulos numa série de grupos sobrepostos. Afirmaram que esses grupos refletiam distinções sociais na antiga sociedade das pessoas de Oleneostrovski Mogilnik. Explicaram que a sociedade fora dividida em duas linhagens, uma assinalada pelo uso de efígies de alces e a outra de cobras. Essas efígies só foram encontradas em algumas sepulturas, possivelmente daqueles que eram os líderes hereditários da linhagem.
Como alguns instrumentos eram enterrados exclusivamente com os homens — pontas de osso, arpões, facas e adagas de sílex — O'Shea e Zvelebil propuseram que existira uma forte divisão sexual de mão-de-obra. As mulheres não tinham instrumentos especiais para si mesmas e eram com maior freqüência enterradas com contas feitas de dentes de castor. Os arqueólogos concluíram que os pingentes de alce e castor eram indicadores de riqueza, pois quando abundavam numa sepultura, o mesmo ocorria com artefatos como facas e pontas. Os enterrados com presas de urso eram os mais ricos — predominantemente jovens adultos. Isso sugeria que a aquisição de riqueza dependia de saúde física e, com maior probabilidade, proezas de caça — a perda de vigor com a idade significava perda de prestígio e poder. Para as mulheres, o caminho para a riqueza parecia ser pelo casamento ou por laços sangüíneos com homens.
Quatro túmulos eram muito diferentes dos outros. Muitos bens tumulares tinham sido colocados nas sepulturas, e os corpos enterrados em posição quase vertical, para que os mortos parecessem ainda em pé no chão. O'Shea e Zvelebil julgaram que eram os xamãs, como propusera a própria Gurina. Por fim, 11 túmulos de velhos continham apenas pontas de osso — possivelmente um grupo especial de caçadores que eram proibidos de acumular seus próprios bens e riqueza.
O'Shea e Zvelebil concluíram que aqueles que enterraram seus mortos em Oleneostrovski Mogilnik tinham vidas sociais mais complexas que a grande maioria de caçadores-coletores do passado e do presente. Como tal, haviam provavelmente vivido o ano inteiro em aldeias ainda não descobertas, afastadas da ilha dos mortos, que parece ter sido procedência apenas dos ancestrais. O'Shea e Zvelebil sugeriram que as pessoas de Oleneostrovski Mogilnik adquiriram sua riqueza atuando como "intermediários" nas redes comerciais de sílex e ardósia que cobriam a Rússia e o leste da Finlândia.
Enquanto fora necessário quase meio século para que a interpretação de Oleneostrovski Mogilnik fosse substancialmente contestada, a de O'Shea e Zvelebil teve menos de uma década de graça. Em 1995, suas conclusões foram questionadas por Ken Jacobs, da Universidade de Montreal, e mais uma vez se interpretou o cemitério de Oleneostrovski Mogilnik.
Jacobs considerou mais importantes as semelhanças que as diferenças entre as sepulturas. Propôs que a ilha servira como "centro ritual" para muitos pequenos grupos de caçadores-coletores que viviam largamente dispersos ao longo das costas e florestas vizinhas do lago Onega. Concluiu que se tratava de uma sociedade de iguais, atribuindo as diferenças entre as sepulturas em números de contas, pingentes e artefatos mais à preservação variável que a riqueza e status. Para Jacobs, Oleneostrovski Mogilnik parecia-se com os lugares sagrados do povo Saami que viveu na região até o século XIX. Também eles haviam enterrado seus mortos em ilhas no interior de lagos. Faziam isso para impedir que os espíritos retornassem aos assentamentos, na crença em que tentariam levar parentes e bens materiais para o outro mundo. Ficando confinados numa ilha, os espíritos também deixavam imperturbados os terrenos de caça e pesca preferidos. É possível que os que enterraram seus mortos no Oleneostrovski Mogilnik pensassem do mesmo modo — talvez fossem os ancestrais diretos dos Saami.
Quando cai a escuridão, Lubbock vê sombras dançando ao luar; escuta o canto, mas não consegue entender as palavras. E assim se solidariza com os arqueólogos de hoje, com Vladislav Iosifovich Ravdonikas, John O'Shea, Marek Zvelebil e Ken Jacobs. Também estes caçam as sombras de vidas passadas e não têm tradutores para a linguagem que tentam ler — das presas de urso, dentes de alce e pontas de osso. À medida que a lua sobe e chegam estrelas cadentes, Lubbock pega emprestado uma canoa e rema noite adentro.
Da margem oeste do lago Onega, ele viaja para a costa báltica. Às vezes a canoa precisa ser arrastada de um rio para outro; há muitas enchentes florestais a serem transpostas, todas criadas por represas de castores — animais que parecem muito mais decididos a redesenhar a natureza que qualquer ser humano no norte da floresta. Lubbock capta vislumbres de alces, vive de peixes e bagas, e dorme sob as estrelas — quando não é acordado por pios de corujas e uivos de lobos. Não fosse pelos pés permanentemente ensopados, o corpo dolorido e incessantes ataques de insetos, seu estilo de vida nômade seria idílico.
Após remar pelo vasto lago Ladoga, ele entra no golfo da Finlândia pelo estuário do rio Neva, chegando aonde um dia florescerá São Petersburgo. Lubbock começa uma viagem para o sul. Transpõe grandes embocaduras fluviais, serpeando entre uma multidão de ilhotas, e às vezes avança para mar aberto. Toninhas muitas vezes seguem atrás e de vez em quando vão na frente indicando o caminho; as focas estão sempre vigilantes, e gaivotas passam em vôos rasantes acima do estranho canoeiro em seu meio. Lubbock passa por muitos acampamentos costeiros, alguns com tendas parecidas com as dos índios norte-americanos, outros com cabanas de madeira. Pessoas sentam-se ao lado de suas canoas e fogueiras fumegantes; consertam redes de pesca e arpões, preparam comidas, contam histórias umas para as outras. Lubbock viaja por mais de 1.500 quilômetros para o sul no mar Báltico. A data torna-se 5.000 a.C. e se aproxima o inverno. No litoral, surgiram grandes bandos de estorninho, as folhas se recolheram e as noites tornam-se mais longas. E por isso um assentamento espalhado em volta da foz de uma lagoa na ponta do sul da Suécia parece muito convidativo, espirais de fumaça sugerindo uma quente fogueira e carne assada.
Esse assentamento hoje se chama Skatehohn, um dos maiores sítios do Mesolítico em todo o norte da Europa. A tranqüila paisagem camponesa da atual Skateholm não oferece qualquer sugestão de seu vivido passado pré-histórico. O nível do mar baixou alguns metros desde aquela época, deixando o que outrora eram ilhotas na lagoa como outeiros baixos em campos fora isso planos. Se o solo for roçado ou soprado, surge areia da praia pré-histórica. Os arados trazem à superfície os detritos da vida do Mesolítico
Na verdade, foi durante uma roçada em fins da década de 1970 que se descobriram os primeiros vestígios da Skateholm Mesolítica, em forma de instrumentos de pedra. Lars Larsson, professor de Arqueologia da Universidade de Lund, investigou. Suas valas experimentais de 1980 recuperaram não apenas abundantes artefatos, mas vários ossos de animais, incluindo de peixes minúsculos, que indicavam excelente preservação. E mais. No lugar onde esses detritos do Mesolítico se tornaram escassos, sugerindo o limite da área viva, uma vala de ensaio revelou uma faixa escura de praia embaixo. Quando se rasparam os poucos centímetros da superfície, surgiu uma caveira humana; era um túmulo, o primeiro dos 64 que Lars Larsson escavaria em Skateholm.
Poucos anos depois, ele expusera mais de 3 mil metros quadrados desse assentamento pré-histórico, descobrira não um, mas três cemitérios, e recuperara uma admirável coleção de artefatos e ossos de animais.
Em 5.000 a.C., a entrada da lagoa tem meio quilômetro de largura e é interrompida por duas ilhotas, uma das quais mal obstrui a água. Esta foi o cemitério antes de ser inundada; agora a maior foi adotada e será o terreno de enterros que Larsson escavou toda: 53 túmulos. Atrás da lagoa, densos juncos bordejam as margens pardas e açoitadas pelo tempo de inverno, entremeadas por rios sinuosos. Além, há densa floresta, não de pinheiros como no norte, mas de árvores transitórias — Lubbock está de volta ao mundo de carvalhos, olmos, limeiras, amieiros e salgueiros. Do seu ponto de vista, ondulando no mar um quilômetro ao largo, ele vê pessoas reunidas em volta de fogueiras e pequenas cabanas de palha cerrada. Há canoas atracadas no meio de juncos e redes penduradas para secar.
As pessoas de Skateholm foram atraídas para a lagoa por sua imensa diversidade de plantas e animais. Durante os meses de inverno, tocaiam javalis e veados na floresta vizinha, montam armadilhas de peixes para lúcios e percas e arrastam na rede grandes cardumes de gastrópodes que vicejam nos rios, e que elas esmagam para fazer óleo. Também se empregam as redes para pegar aves aquáticas ao longo dos promontórios rochosos: cefos, martim-pescadores e êideres. Quando o mar está calmo, saem a pescar arenques ou arpoar golfinhos e toninhas. Passam algumas noites tocaiando focas que se reúnem nas margens.
Todas essas atividades se evidenciam na coleção de ossos de animais que Lars Larsson recuperou: ossos de 87 espécies diferentes. Com tão imensa variedade, ele deduziu que as pessoas tinham vivido em Skateholm o ano inteiro. Mas depois Peter Rowley-Conwy pegou os ossos e analisou-os com seu íntimo conhecimento de anatomia, reprodução e comportamento animais.13
Rowley-Conwy constatou que os ossos de javali contavam uma história sobre a vida em Skateholm diferente da concebida por Lars Larsson — ou melhor, os bacorinhos é que contavam. O javali é um animal ideal para o arqueozoólogo pela rapidez de seu crescimento, de minúsculos bacorinhos recém-nascidos a um adulto grande desenvolvido. Em conseqüência, o tamanho do animal é um indicador preciso de sua idade, não em anos, mas em meses desde o nascimento. Os bacorinhos do Mesolítico nasciam mais provavelmente na primavera, como os de hoje. Calculando sua idade quando mortos, pode-se estabelecer em que mês ocorreu a caça. Claro, não se pode medir o verdadeiro filhote, pois só sobrevivem ossos individuais; mas alguns desses — como as falanges ou ossos dos pés — dão uma estimativa muito precisa do bacorinho completo. Assim, Rowley-Conwy calculou os ossos em Skateholm e constatou que todos os javalis haviam sido mortos durante os meses de inverno.
A mesma estação foi sugerida pelo estudo de mandíbulas de gamos e ossos de focas. Dos pássaros, quase todos eram visitantes de inverno; havia apenas dois ossos de possíveis migrantes de verão no litoral sueco: o pelicano dálmata e a marreca. Igualmente reveladora foi a ausência de espécies que teriam sido capturadas se as pessoas houvessem estado em Skateholm nos meses de verão. Bacalhau, cavala e peixe-agulha, por exemplo, teriam com certeza sido apanhados em grandes quantidades quando se aproximavam da costa para alimentar-se; mas se achavam representados apenas por 15 das 2.425 espinhas de peixes identificados. Isso sugere que as pessoas só pescavam no inverno, época em que esses peixes estavam bem distantes no mar Báltico.
De sua canoa, Lubbock vê vários aglomerados de canoas ao longo das margens de Skateholm; algumas com tendas tipo pele-vermelha cobertas de couro, outras são choupanas de galhos em forma de domo, ou com estruturas de madeira meio precárias. Olhando mais de perto, ele vê que as pessoas em cada aglomerado também se vestem de forma muito diferente — algumas com longos xales, outras com peles. Têm rostos pintados ou lavados, pescoços e cinturas rodeados de contas ou quase nus. Parece haver pouco contato entre cada aglomerado, apenas um reconhecimento de má vontade de que também têm direito de acampar junto à lagoa.
Assim que Lubbock ergue o remo para se aproximar da praia, um cão ladra. Um segundo o acompanha, junto com uma matilha no promontório oeste da lagoa. Cães grandes, meio parecidos com os pastores alemães de hoje. Cães ferozes. Lubbock decide permanecer vendo de longe.
Os cemitérios de Skateholm escavados por Larsson sugerem famílias que mantinham frouxos laços entre si numa única comunidade, devido à imensa variedade de práticas funerárias. Contrastam muitíssimo com a uniformidade encontrada em Oleneostrovski Mogilnik. Depois de concluir suas escavações, Larsson constatou que os túmulos humanos tinham sido feitos aleatoriamente em seus cemitérios, sem nenhum padrão coerente. As pessoas eram enterradas deitadas de costas, de bruços, agachadas, sentadas, semi-reclinadas, com alguns membros dobrados e outros estendidos.
A maioria dos túmulos era de indivíduos sozinhos, cerca de igual número de mulheres e homens, embora se encontrassem alguns túmulos múltiplos. Algumas pessoas tinham sido cremadas, e outras tinham estruturas de madeira queimadas sobre suas sepulturas, como parte do rito de enterro. Algumas tinham os ossos rearrumados ou parcialmente retirados numa data posterior.
A variedade de artefatos e ossos de animais encontrados nos túmulos combinava com a diversidade de práticas funerárias — quase toda combinação imaginável de instrumentos, pingentes e chifres. Os ossos, dentes, presas e galhadas de caça graúda terrestre — de veado-vermelho, cabrito montês e javali — eram os artigos de enterro preferidos. Mas um corpo de mulher tinha um recipiente de peixes depositado junto à perna inferior; outra, a caveira de uma lontra. A impressão é de famílias separadas escolhendo como enterrar seus mortos, apenas frouxamente limitadas pela convenção da comunidade e a prática ritual em geral.
Havia poucos padrões claros entre o tipo de enterro e o tipo de pessoa, em termos de idade e sexo. Como em Oleneostrovski Mogilnik, os indivíduos mais ricos pareciam ser os na flor da vida. Portanto, poder e prestígio eram mais uma vez uma questão de realização pessoal, e não de herança. Havia limitadas diferenças entre homens e mulheres, os primeiros mais freqüentemente enterrados com as lâminas e machados de sílex, enquanto pingentes de dentes de auroque (bisão-europeu) parecem ter sido mais só para mulheres. Não há exemplos de indivíduos com desordenadas quantidades de riqueza nem que possam ter sido xamãs ou chefes.
A presença de cães domesticados em Skateholm foi uma das mais importantes descobertas de Lars Larsson. Alguns ossos achavam-se espalhados nos dejetos domésticos, mas os indícios de domesticação vieram quando se encontraram túmulos de cães. No cemitério mais antigo, cachorros tinham sido sacrificados quando seus donos tinham morrido, juntando-se a eles na sepultura e no outro mundo. Mas no segundo cemitério — o em uso durante a visita de Lubbock — os cães tinham seus próprios túmulos e recebiam o mesmo tratamento fúnebre que os seres humanos. Um tinha uma galhada nas costas, três lâminas de sílex junto à coxa e um martelo de chifre enfeitado, e estava coberto de ocre vermelho.
Jogam-se pedras, os cachorros ganem e desaparecem. Mais uma vez, Lubbock ergue o remo e agora se aproxima um pouco mais da margem. Mas ao ter uma visão mais clara dos sentados e em pé perto das fogueiras, pára de novo a canoa. Um dos homens manca apoiado numa bengala; dois outros têm rostos com acentuadas cicatrizes; um bem pode ser cego. Lubbock decide abandonar uma visita a esse assentamento, um lugar de evidente tensão e violência sociais. Vira a canoa e ruma para a costa dinamarquesa a leste.
Lars Larsson encontrou perturbadores indícios de que as pessoas de Skateholm tinham lutado agressivamente entre si mesmas ou com outras. Na verdade, o acúmulo de indícios a partir de cemitérios e túmulos isolados mostrou que a violência era endêmica nas comunidades do Mesolítico em todo o norte da Europa.
Em Skateholm, constatou-se que quatro indivíduos tinham fraturas de afundamento de crânio — tinham sido atingidas em algum momento na cabeça com um instrumento contundente que deixara uma mossa permanente. Esses golpes talvez tenham simplesmente deixado as vítimas inconscientes, mas bem poderiam haver sido fatais. Pontas de flecha de sílex tinham atingido duas outras de Skateholm e continuavam no meio de seus ossos quando escavados por Larsson: uma fora atingida no estômago, a outra no peito.
Podem ter sido inocentes acidentes de caça — mas isso dificilmente explicaria os crânios faturados. Parte da violência talvez tenha sido de natureza ritualística. Em Skateholm, uma jovem adulta fora morta por um golpe na têmpora e depois estendida junto a um homem mais velho numa única sepultura — talvez um sacrifício para juntar-se a seu parceiro, talvez a punição final por algum crime desconhecido. Mas a explicação mais provável para a violência é que essas comunidades mesolíticas lutavam para defender sua terra.
Skateholm devia ser muito desejável para os caçadores-coletores, com abundantes provisões de comida na floresta, pântanos, rios, lagoa e mar. Quando as pessoas se dispersavam no verão, não deviam desejar abandonar a lagoa a estranhos indesejáveis, ou aos que viviam em regiões vizinhas mas menos produtivas.
A maioria dos ferimentos na cabeça viera de golpes frontais ou laterais à esquerda — desfecho de um combate face a face com um adversário destro. Os homens se metiam mais em lutas que as mulheres, tendo três vezes mais ferimentos na cabeça e quatro vezes mais de flechas. Pode-se facilmente imaginar grupos que retornavam à lagoa no fim do verão encontrando visitantes não convidados já presentes e lutando pela terra.
Quando se tenta explicar a violência em Skateholm e outros lugares na Europa do Mesolítico, é útil pensar no povo indígena ianomâmi que vive na floresta amazônica. Morando em aldeias e dependendo substancialmente de alimentos selvagens, eles foram estudados em detalhe pelo antropólogo Napoleon Chagnon. Como a do Mesolítico, a violência é endêmica na sociedade deles, dentro e entre as aldeias. Varia de duelos ritualísticos envolvendo disputas de batidas no peito, lutas com porrete, ataques entre as aldeias e guerra total. Os homens são responsáveis pela maior parte da violência, e grande parte dela é por mulheres e sexo.
Os duelos muitas vezes começam quando um homem pega outro em flagrante com sua mulher. Segundo Chagnon, "o marido enfurecido desafia o adversário a bater-lhe na cabeça com um porrete. Segura o seu na vertical, apóia-se nele e expõe a cabeça para o outro bater. Após suportar um golpe na cabeça, pode desferir outro no crânio do culpado. Mas assim que o sangue começa a jorrar, quase todos tiram um pau da construção da casa e entram na briga, apoiando um ou outro dos combatentes". O topo da cabeça da maioria é coberto de cicatrizes profundas, horríveis, das quais eles sentem imenso orgulho. Na verdade, alguns homens exibem as cicatrizes raspando os cabelos e passando pigmentos vermelhos, para assegurar que fiquem claramente definidas.
Muitos ataques entre aldeias destinavam-se apenas a raptar mulheres, embora se afirmasse que seu propósito era acabar com a feitiçaria dos membros de uma aldeia contra a outra. Chagnon descreve conflitos extremamente violentos, sobretudo os que envolvem nomohori — traição — nos quais as pessoas visitam outra aldeia com falsos pretextos, matam com brutalidade os anfitriões e fogem com suas mulheres. Uma mulher capturada é tipicamente estuprada por todos os membros do grupo atacante e depois por qualquer outro homem na aldeia que decida fazê-lo. Um dos homens então a toma como esposa.
A guerra ianomâmi proporciona uma atraente analogia para o que poderia ter ocorrido no Mesolítico do norte da Europa. E sempre perigoso em arqueologia, porém, pegar descrições de pessoas vivas e impô-las ao passado, sobretudo quando as duas sociedades vieram de ambientes tão diferentes — os trópicos da América do Sul e as terras litorâneas da Escandinávia mesolítica não poderiam ser mais diferentes. E não há a menor dúvida de que os ianomâmis viviam em comunidades muito maiores e em assentamentos mais permanentes que os do Mesolítico. No entanto, as lutas de porrete ritualísticas e os grupos de ataque são atraentes explicações para os crânios fraturados e corpos perfurados nos cemitérios do Mesolítico. E homens brigando por mulheres sem a menor dúvida é uma das características mais antigas e generalizadas da sociedade humana.
Um grupo de ataque poderia explicar o mais dramático sinal de violência da Europa mesolítica: os "ninhos" de crânios da caverna Ofnet na Alemanha. Encontraram-se duas covas rasas contendo crânios humanos cuidadosamente dispostos, todos com a aparência de cortados de corpos recém-mortos em alguma data por volta de 6.400 a.C. Um poço tinha 27, o outro seis, e a maioria vinha de mulheres e crianças. Vários exibiam feridas na cabeça, sobretudo os dos homens, um dos quais fora atacado com seis ou sete pesados golpes de machado. Quase todos tinham sido elaboradamente enfeitados com conchas de molusco ornamentais, dentes perfurados de veado-vermelho e ocre avermelhado. As conchas de molusco são notáveis por incluírem espécies de muito longe — o centro oriental da Europa, a alva Suábia e até o Mediterrâneo.
Esses "ninhos" de crânios sugerem um ataque a um assentamento do Mesolítico semelhante aos feitos pelos ianomâmis. Se as cabeças foram cortadas de corpos já mortos ou os "prisioneiros" foram executados, continua sendo um ponto de macabra especulação, sobretudo em vista do envolvimento de tantas mulheres e crianças. Do mesmo modo, pode-se especular se o cuidadoso enterro foi realizado pelos sobreviventes, como um ato de luto e lembrança, ou pelos vitoriosos, para acalmar os espíritos das vítimas. Qualquer que seja o caso, é claro que a Europa mesolítica teve seus momentos de brutal violência e sangrenta matança.
A explicação comum entre os arqueólogos para o aumento da violência nas sociedades mesolíticas do norte da Europa após 5.500 a.C. relaciona-se à pressão populacional sobre os decrescentes recursos. Desde 9.600 a.C., as florestas, lagoas, rios, estuários e litorais do norte da Europa tinham fornecido abundantes recursos selvagens. As populações dos primeiros colonos após a era glacial e as do Holoceno Inicial se tinham expandido rapidamente — eles se achavam num Paraíso Mesolítico. Mas em 7.000 a.C., os que viviam nas terras da Suécia e Dinamarca modernas perdiam substanciais áreas para o mar em ascensão. As pessoas foram ficando cada vez mais apertadas em territórios cada vez menores, levando a intensa competição pelos melhores locais de caça, coleta de plantas e — sobretudo — pesca.
Os problemas econômicos e sociais causados pela mudança ambiental foram exacerbados, porém, por uma nova força que entrara na vida dessas pessoas. Era a que já oprimira os ocupantes da Caverna Franchthi e Lepenski Vir e que se originara a grande distância no oeste da Ásia. Em 5.500 a.C., os camponeses haviam chegado ao centro da Europa e feito contato com o povo nativo, ou em pessoa ou por troca de bens. O desejo de terra, mulheres, peles e caça selvagem dos camponeses ajustava-se habilmente a necessidade dos povos do Mesolítico de novos artigos de prestígio como machados polidos, a fim de dedicar-se à sua própria competição social interna. Eles começaram a comerciar do outro lado de uma fronteira — camponeses ao sul do que hoje é a Polônia e a Alemanha, caçadores-coletores ao norte na Dinamarca e Suécia. Mas enquanto fazia prosperar os assentamentos agrícolas, esse contato causava ruptura social e tensão econômica para o povo do Mesolítico. E acabaria levando ao completo colapso cultural.
20
Na Fronteira
A disseminação da agricultura na Europa Central e seu impacto na sociedade mesolítica,
6.000 – 4.400 a.C.
Por volta de 6.000 a.C., os povos mesolíticos do norte da Europa ouviam relatos à beira da fogueira de visitantes sobre um novo povo no leste, pessoas que viviam em grandes casas de madeira e controlavam a caça. Em breve, encontraram os próprios vizinhos mesolíticos usando machados de pedra polida, modelando vasos de cozinha de barro e arrebanhando gado para si mesmos. Quando as aldeias agrícolas chegaram às suas terras de caça, olhos mesolíticos espiaram por trás de árvores as longas casas de ripas de madeira, o gado preso com cordas c as colheitas brotando, e sentiram emoções confusas — medo, reverência, desânimo, repugnância.
A geração mais velha deve ter-se esforçado para entender o que via. Embora eles mesmos tivessem derrubado árvores e construído moradas, as novas fazendas estavam muito além da sua compreensão. Os agricultores pareciam decididos a controlar, dominar e transformar a natureza. A cultura mesolítica não fora mais que uma extensão do mundo natural. Seus machados de pedra lascada eram apenas uma elaboração da obra da natureza, o uso por ela de rios e geadas para fragmentar nódulos de pedra e fazer pontas afiadas. Cestos de palha e tapetes tecidos não passavam de formas extravagantes de teias de aranha e ninhos de pássaros feitos por mãos humanas.
A cerâmica dos agricultores — produto de barro e areia misturadas, cozido, decorado e pintado — não tinha precedentes no mundo natural. Quando amolavam e poliam seus machados, alisando-os, os agricultores pareciam decididos a negar a angulosidade natural da pedra. Construir uma casa mesolítica exigia não mais que promover e combinar a existente flexibilidade da aveleira, o encordoamento do salgueiro e as folhas de casca da bétula que já vinham prontas para o uso; as longas casas de ripas de madeira, por outro lado, exigiam que se rasgasse a natureza e construísse o mundo de outra forma.
É possível que os homens e mulheres mais velhos se tivessem retirado das florestas do centro da Europa, abandonado seus terrenos de caça e insistido em que se passasse mais tempo celebrando o mundo natural. Mas cantavam e dançavam contra a maré da história: a geração mais moça tinha idéias muito diferentes. Vários já haviam nascido num mundo em que agricultores, cerâmica, gado e trigo eram tão naturais quanto o javali e as coletas anuais de nozes e bagas. E assim fizeram contato com os recém-chegados. Trabalharam para os agricultores como mão-de-obra, rastreadores e caçadores. Dedicaram-se ao comércio, aprenderam a fazer cerâmica e a arar a terra. Suas filhas casavam-se com os agricultores e logo seus filhos se tornavam eles próprios agricultores.
Os que continuaram com sua cultura mesolítica nas florestas do norte tiveram de ajustar seus padrões de caça e coleta tradicionais. Tinha-se de obter peles, caça, mel e outros produtos florestais para o comércio; os recursos naturais eram atacados e ficavam mais esgotados. E à medida que um número cada vez maior de mulheres se juntava aos camponeses, vendo a agricultura como uma garantia de muito maior segurança para si mesmas e seus filhos, passava a ter menos delas para manter as populações mesolíticas. Terra e mulheres tornaram-se fontes de tensão que muitas vezes transbordavam na violência tão brilhantemente documentada nos túmulos mesolíticos.
Em 5.500 a.C., um novo tipo de cultura agrícola surgira das margens da planície húngara: a Linearbandkeramik, que os arqueólogos felizmente abreviaram para LBK. Propagou-se com espantosa rapidez para leste e oeste, para a Ucrânia e o centro da Europa. Enquanto Lubbock remava a canoa para Skateholm, os agricultores da LBK transpunham e abriam clareiras nas florestas transitórias da Polônia, Alemanha, Países Baixos e leste da França.
Era um tipo de Neolítico muito diferente do que surgira na Grécia e se espalhara para o norte pelos Bálcãs até chegar à planície húngara. Como indica seu nome, LBK, esses agricultores decoravam sua cerâmica com faixas de linhas finas; construíam longas casas de madeira e dependiam do gado bovino, em vez de carneiros e cabras. No entanto, os arqueólogos tradicionalmente julgavam que os agricultores da LBK eram descendentes diretos dos imigrantes originais do oeste da Ásia e representavam uma nova fase de sua migração pela Europa.
A identidade deles agora foi contestada. Marek Zvelebil afirma que os povos do Mesolítico que viviam nas periferias da planície húngara adotaram práticas agrícolas por si mesmos — observando e aprendendo com os novos imigrantes, trocando estoques e grão domésticos. É provável que tenha havido alguma mistura das populações, talvez pelo casamento, talvez pelo roubo de mulheres ao estilo ianomâmi. Mas as pessoas do Mesolítico fizeram muito mais que apenas copiar os imigrantes. Adaptaram o estilo de vida agrícola para ajustar-se aos solos, climas e florestas do centro da Europa — criaram elas próprias a LBK. E quando suas novas populações agrícolas começaram a expandir-se, elas se espalharam ao mesmo tempo para leste e oeste, mantendo uma admirável consistência em todos os aspectos de sua nova cultura — a arquitetura das casas, a disposição das aldeias, a organização social e economia. E assim, segundo Zvelebil, os camponeses neolíticos LBK da Europa eram descendentes diretos dos caçadores-coletores mesolíticos nativos, e não dos imigrantes que haviam chegado originalmente à Grécia.
Qualquer que tenha sido sua ancestralidade, os novos agricultores viajaram para oeste a notável velocidade, cobrindo 25 quilômetros por geração. Assim como os agricultores imigrantes originais do sudoeste da Europa, encheram cada nova região de solos férteis com fazendas e aldeias e depois saltaram solos menos favoráveis, estabelecendo uma nova fronteira. Essa rapidez reflete mais que o sucesso de seu estilo de vida — indica uma ideologia de colonização, uma atração pela "vida de fronteira", semelhante, alguns sugeriram, à dos bôeres da África do Sul e os pioneiros do oeste americano.
A mentalidade "de fronteira" talvez possa explicar também a uniformidade cultural dos agricultores LBK. Uma casa da aldeia de Cuiry-les-Chaudardes, na bacia de Paris, vai parecer quase idêntica a uma de Miskovice, na República Tcheca, construída a quase mil quilômetros de distância e vários anos antes. Os da fronteira aderiram a um assentamento "ideal", que lembravam de sua terra natal, embora essa "terra natal" tivesse começado a mudar — como tinham feito os colonos agrícolas em Chipre, perseverando em suas pequenas habitações circulares quando a arquitetura retangular se tornava ubíqua no oeste da Ásia.
Os novos agricultores do centro da Europa roçavam pequenas faixas de florestas e construíam longas casas, em geral de 12 metros de comprimento, às vezes três ou quatro vezes maiores. Trigo e cevada eram cultivados em pequenos tratos, às vezes com ervilhas e lentilhas. Seu gado pastava nas exuberantes matas e os porcos chafurdavam no lixo de folhas embaixo das árvores. Como ocorrera em Nea Nikomedeia, a família era a unidade social essencial; tomava suas próprias decisões e tentava manter sua independência, mas no fim continuando a depender das outras em tempos de necessidade.
As longas casas eram sólidas, construídas com três colunas de madeira internas, ladeadas por fileiras de estacas que suportavam as paredes de taipa. O barro do reboco era muitas vezes retirado da parte externa imediata das próprias paredes, criando convenientes fossos para jogar fora o lixo doméstico. Dentro, as longas casas eram em geral divididas em três partes, possivelmente usadas para armazenagem, cozinha e refeição, e para dormir. Tem de ser "possivelmente", porque todas as gerações de agricultores posteriores, incluindo os dos tempos modernos, foram atraídos exatamente para os mesmos solos férteis preferidos pela LBK. Os pisos das longas casas foram destruídos por arados modernos, deixando os arqueólogos apenas com os círculos de terra escurecida que marcam onde as estacas de madeira sustentaram um dia telhados e paredes.
Algumas das longas casas ficavam sozinhas dentro das matas; em outros lugares, 20 ou 30 alinhavam-se cm ordem, cada uma com as portas dos fundos dando para o leste. Nessas aldeias, as casas achavam-se em vários estágios de conservação. Quando o último membro de uma casa morria, a morada era abandonada, mesmo tendo a estrutura perfeita. Era simplesmente deixada para desabar na aldeia, e terminava como um longo monte baixo de detritos — uma casa "morta" para combinar com a família "morta".
As próprias pessoas eram enterradas em cemitérios contíguos à sua aldeia. A preservação de ossos é em geral tão má que raras vezes sobrevive alguma coisa mais que débeis traços de esmalte de dente durável em cada cova. Quando se encontram ossos, eles sugerem que todos os membros da comunidade foram enterrados juntos — homens e mulheres, velhos e crianças. Machados, enxós, pontas de flecha e ornamentos de concha são muitas vezes colocados com os homens, esmeris e sovelas com as mulheres. Não há vestígios de indivíduos muito ricos ou poderosos, e só poucos indícios de crença religiosa e práticas rituais.
John Lubbock ainda não encontrou nenhum desses agricultores quando explora o mundo da Dinamarca mesolítica a desintegrar-se lentamente. Mas sua jornada logo o colocará frente a frente com os recém-chegados.
Da baía de Skateholm, ele transpôs a costa dinamarquesa e depois viajou para o norte, e agora chega a uma estreita enseada que acabará por tornar-se uma terra pantanosa atrás da cidade de Vedbaek, uns 20 quilômetros ao norte de Copenhague. Em 4.800 a.C., a enseada é muito parecida com a lagoa de Skateholm — um valorizado local de caça, pesca e aves selvagens, pela qual as pessoas se dispõem a lutar e morrer, e onde vão morar até muito depois da morte. Vários pequenos assentamentos se espalham em volta de suas margens; Lubbock opta por visitar um e constata que foi abandonado recentemente — as fogueiras ainda fumegam e um cachorro preso a uma corda acabou de ser alimentado.
Os habitantes estão reunidos no cemitério, num outeiro baixo atrás da aglomeração de suas cabanas de mato cerrado. Espremendo-se entre eles, Lubbock vê um recém-nascido sendo baixado numa cova perto da jovem mãe. Ela não parece ter mais de 18 anos; na certa esse foi o primeiro e último filho que teve. Deitada de costas, parece resplandecente — o vestido tem argolinhas de contas de concha de lesma e uma legião de belos pingentes. Um manto com decoração semelhante foi dobrado para fazer um travesseiro no qual se espalhou seu cabelo louro. As faces ardem em intenso fulgor, empoadas com ocre vermelho — talvez um lembrete do sangue que correu.
O corpinho arroxeado é estendido ao lado dela, não na terra, mas envolto no último abraço macio de uma asa de cisne. Põem uma grande lâmina de sílex sobre o minúsculo corpo, como se teria feito se o bebê tivesse crescido e morrido como adulto. Lubbock vê o pigmento vermelho em pó ser soprado de uma cumbuca de madeira e cair flutuando sobre o cadáver do bebê.
Quando escavado em 1975, esse túmulo foi simplesmente designado como "Cova 8" do cemitério de Bogebakken, localizado durante a construção de um estacionamento de carro. Escavaram-se mais 16 outras sepulturas; quase todos os corpos tinham sido identicamente arrumados — de costas, os pés juntos e as mãos aos lados. As sepulturas eram em bem cuidadas fileiras paralelas, muito diferentes da arrumação aleatória dos corpos em posições variadas em Skateholm.
A asa de cisne na Cova 8 talvez tenha sido muito mais que um confortável lugar de descanso para o quase filho. Entre o povo Saami do norte da Europa do século XIX, cisnes e aves selvagens eram os mensageiros de Deus. Esses pássaros, afinal, podiam andar na terra, nadar na água e voar no ar — capazes de mover-se entre diferentes mundos. Talvez as pessoas do Mesolítico tivessem igualmente reverenciado seus cisnes e deixado que um fizesse aquela criança voar para seu outro mundo, onde poderia ter a vida que lhe fora negada na terra.
De Vedbaek, Lubbock dirige-se para o sul, mantendo-se perto da margem e passando por densos leitos de junco sob os amieiros que bordejam a frondosa floresta estival. Um profundo aroma musgoso de detritos decompostos flutua dos rasos, mas em toda a volta sente-se a vibrante azáfama de vida — peixes e sapos saltando, libélulas, patos e uma trilha aparentemente contínua de aldeias e campos de pesca ao longo da margem.
Embora as pessoas que Lubbock encontra reverenciem os veados-vermelhos e os javalis das florestas, esses animais não são caçados com freqüência e pouco contribuem para a dieta, quando comparados com o constante suprimento de comidas do mar e de água doce: peixes, crustáceos, pássaros, enguias, camarões e uma ou outra foca ou toninha. Felizmente para os arqueólogos, essa dieta do Mesolítico deixará um traço químico em seus ossos. Não fosse por isso, e as técnicas científicas para analisar a química de ossos, os arqueólogos poderiam facilmente ter julgado que o povo mesolítico dependia mais da caça que da pesca, em vista de sua preferência por ornamentos leitos de dentes de gamo e presa de javali.
A pesada dieta marinha talvez explique por que as pessoas que Lubbock encontra parecem indispostas: barrigas dilatadas, rostos pálidos, diarréia e náusea. Copiosas quantidades de peixe podem levar a uma infestação de parasitas, que por sua vez prejudica o funcionamento dos rins e intestinos. Só resta um traço arqueológico disso quando a infestação se torna grave — os ossos do crânio às vezes engrossam, como se constatou em alguns espécimes do Mesolítico na Dinamarca.
No assentamento de Tybrind Vig, na costa oeste da Zelândia, Lubbock aperta-se na parte de trás de uma canoa que parte para a pesca noturna nas águas superficiais de uma baía de fundo lodoso. Quando cai a escuridão, acende-se uma fogueira num leito de areia na própria canoa e logo um emaranhado de enguias pulula em torno do barco, atraído pela luz. Os pescadores põem-se em posição vertical para fisgá-las com arpões de três dentes. Lubbock permanece sentado, vendo as mariposas em volta das chamas e admirando a excelente canoa feita de um único toro de limoeiro — e mais particularmente os remos em forma de coração. Cada um foi esculpido de freixo e depois decorado com um intrincado desenho geométrico, talhado na superfície e preenchido com pigmento marrom-escuro.
Lubbock vira remos semelhantes em uso quando andara pela margem; seus companheiros do Mesolítico sabiam imediatamente, pelo desenho, de onde viera a canoa e para onde era possível que fosse. Lubbock logo percebeu que as pessoas do Mesolítico estavam tão atentas no controle do paradeiro umas das outras quanto no dos cardumes e animais.
Das ilhas, Lubbock atravessou para a Jutlândia e a mata aberta de seus solos arenosos no outro lado. O extremo norte da Jutlândia é profundamente endentado com fiordes, e ele encontra pessoas criando enormes montes de conchas de molusco, espinhas de peixe e outros dejetos domésticos. Já lera sobre esses sítios em Tempos pré-históricos. Na década de 1860, seu xará vitoriano fez duas visitas aos monturos de conchas, ou Kokkenmoddinger, como os chamavam os arqueólogos do século XIX. Durante uma visita, o John Lubbock vitoriano escavou sua parte num monturo e recolheu instrumentos de sílex.
O Lubbock moderno chegou ao que hoje chamamos de monturo Ertebolle: uma contínua massa de conchas de cerca de 20 metros de largura, vários de espessura e estendendo-se por mais de 100 pela margem. Uma extremidade é pantanosa e junto à fonte que primeiro atraiu as pessoas ao lugar. Os vastos bancos de ostras, mexilhões, berbigões e litorinas encontrados logo ao largo também eram atraentes — produto de água salgada rica em nutrientes e abrigada. Ele senta-se numa pilha de conchas e ossos jogados fora junto ao lugar onde grupos de pessoas se acham em ação. O cheiro do monturo de lixo é quase esmagador, mas só Lubbock parece notar. Algumas pessoas trabalham em pedras; outras se agrupam em volta de fogueiras ou estripam peixes. A atenção de Lubbock é atraída, porém, para uma atividade que jamais vira um caçador-coletor realizar: uma mulher transforma um punhado de barro num vaso de cerâmica.
Todos os que trabalharam no monturo em 4.400 a.C. deixaram vestígios para Soren Andersen, da Universidade de Aarhus, encontrar quando escavou Ertebolle em 1983: conjuntos de lascas de sílex, ossos de animais amontoados em volta de poços cheios de carvão, densas pilhas de espinhas de peixe. Andersen não foi o primeiro a escavar o sítio. Quase cem anos antes, o Museu Nacional investigara o grande monte de concha e usara seu nome para o último dos povos do Mesolítico na Dinamarca: a cultura Ertebolle. O John Lubbock moderno lera sobre o trabalho do Museu em Tempos pré-históricos. Formara-se um comitê composto de um biólogo (Professor Steenstrup), um geólogo (Professor Forchhammer) e um arqueólogo (Professor Worsaae) para examinar o Kokkenmoddinger — a pesquisa interdisciplinar sempre foi reconhecida como necessária para investigar o passado. Como escrevera o John Lubbock vitoriano: "Muito, claro, se esperava desse triunvirato, e as esperanças mais entusiásticas foram realizadas."
Soren Andersen, trabalhando com sua própria equipe interdisciplinar, escavou dentro e em volta do monturo, à procura de casas e túmulos. O John Lubbock vitoriano supusera que as conchas se acumulavam em volta de "tendas e cabanas", os montes sendo "sítios de antigas aldeias". Mas Andersen não encontrou casa alguma; o John Lubbock moderno poderia ter-lhe dito por quê. Apenas abrigos frágeis eram erguidos em volta do monturo e, quando se expandiam, os escassos traços de sua presença — buracos de estacas de sustentação — eram enterrados por novas camadas de conchas. Mas o John Lubbock moderno não viu sinais de um cemitério e continuou tão ignorante quanto Soren Andersen em relação ao que acontecia com os mortos.
Como todos os caçadores-coletores, as pessoas de Ertebolle sabiam exatamente onde, quando e como explorar diferentes animais e plantas à medida que mudavam as estações. No inverno, iam para o extremo norte da Jutlândia pegar os ruidosos cisnes europeus que chegavam como migrantes à costa dinamarquesa — deixando um conjunto de ossos de cisne esquartejados e artefatos hoje conhecidos como sítio de Aggersund. Alguns iam para Vanego So, uma ilhota na costa leste e perto da margem de uma baía rasa. Era perfeita para baleias desgarradas. Durante os meses de outono, visitavam regularmente a ilhota de Dyrholm. Ali pegavam enguias que abundavam nos baixios e esfolavam-nas com facas de lâmina de pedra.
Esses movimentos sazonais ao longo da costa foram identificados por uma detalhada análise de ossos de animais feita por Peter Rowley-Conwy na década de 1980, usando as últimas técnicas de "arqueozoologia", e indicaram a probabilidade de que algumas pessoas tenham vivido permanentemente no monturo de Ertebolle. Ele apenas desenvolvia, porém, as intuições do John Lubbock vitoriano, que já concluíra "ser altamente provável que os ‘construtores de montes' habitassem a costa dinamarquesa o ano inteiro", baseado nos vestígios de ossos de cisne, chifres e os ossos de mamíferos jovens descobertos nos monturos. Os primeiros indicavam ocupação de inverno, pois os cisnes eram migrantes da estação fria; os segundos sugeriam outono, quando brotavam as galhadas dos gamos; e os terceiros, primavera, quando nascem os filhotes. O John Lubbock vitoriano era arqueozoólogo antes de se conhecer o termo.
Também era atento aos vestígios botânicos, observando que a ausência de grãos sugeria que faltava "aos homens dos Kokkenmoddinger" qualquer conhecimento de agricultura. Nem as conchas escaparam de sua mente investigativa; o John Lubbock vitoriano notou que as dos monturos eram muito maiores que as que se encontram hoje na costa dinamarquesa, e que as ostras haviam desaparecido completamente. Chegou a essa conclusão pelas concentrações modificadas de sal na água — antecipando em um século a afirmação de Peter Rowley-Conwy de que a menor salinidade provocara o abandono dos montes de concha e a mudança para uma economia agrícola.
A cerâmica mesolítica feita em Ertebolle era muito diferente da que Lubbock vira em Nea Nikomedeia; simples, de contornos densos e desiguais, e moldadas por mãos inexperientes. Essa cerâmica não era inesperada, pois em Tempos pré-históricos o John Lubbock vitoriano diz ter encontrado "pequenos pedaços de uma cerâmica muito tosca" durante sua visita de 1863. O John Lubbock moderno viu os vasos completos: potes com fundos em ponta e travessas rasas. Eram usados sobretudo para cozinhar, uma grande vantagem sobre os feitos de madeira e palha.
A visão de caçadores-coletores fazendo cerâmica é apenas um dos vários sinais de mudança que Lubbock encontra ao prosseguir em sua viagem pela Dinamarca do Mesolítico. Outro são jovens com machados de pedra polida ostensivamente enfiados nos cintos — figuras bonitas, altas, muito diferentes da "raça de homens pequenos, com testas projetadas para fora", que o John Lubbock vitoriano imaginara vivendo na Dinamarca do Mesolítico.
A origem desses machados começa a tornar-se evidente no último dos assentamentos que Lubbock visita na Dinamarca do Mesolítico: Ringkloster. Surpreendentemente, esse fica no interior, localizado atrás da borda de um lago no noroeste da Jutlândia — o John Lubbock vitoriano achara "evidente que uma nação que sobrevivia sobretudo de moluscos marinhos jamais iria formar quaisquer grandes assentamentos no interior", Nisto se enganou. Mas apenas por pouco, pois após 150 anos de pesquisa, Ringkloster continua sendo o único assentamento no interior da Dinamarca do Mesolítico conhecido atualmente. O John Lubbock moderno encontra o assentamento no meio de uma paisagem de estonteante beleza, com encostas florestais íngremes, extensos vales, pântanos e lagos. Muitas das árvores da mata — carvalho, olmo, limeira e aveleira — acham-se cobertas de espessa hera, e densos amieiros vicejam à beira do lago.
Lubbock chega a Ringkloster ao cair da tarde, no meio do inverno, encontrando um aglomerado de cabanas de galhada cobertas de neve. A floresta foi aberta pela derrubada de limeiras e olmos — a madeira preferida para canoas e remos. As pessoas se ocupam em volta das cabanas, todas muito bem vestidas e enfeitadas com contas. Homens e mulheres trançam os cabelos e pintam os rostos. Nas cabanas, Lubbock vê os agora conhecidos artefatos da vida mesolítica: arcos e flechas, machados de pedra e cestos de vime. Numa, porém, percebe uma coisa nova: fardos de peles grossas, atadas com guita e prontas para ser transportadas. Lubbock vê cestos de lixo levados e jogados no lago, e os cachorros estão amarrados a estacas. No centro do assentamento, um imenso javali é assado no espeto; a terra em volta foi desobstruída da neve e torrada com tapetes de cascas de árvores. É claro que esperam visitantes. Lubbock trepa numa árvore para observar de certa distância.
Uma hora depois, Ringkloster é cenário de um grande banquete; os visitantes chegaram da costa e trouxeram muitos artigos para trocar — cestas de ostras, filés de golfinho salgados, contas feitas de âmbar dourado, são trocados pelas luxuosas peles de inverno por cujo fornecimento Ringkloster é famosa. Durante dois meses, sua gente andou capturando com armadilhas martas, gatos selvagens, texugos e lontras. Acumulou unia grande quantidade de peles, aprontando-se para a chegada dos negociantes que virão durante todo o inverno e até bem avançada a primavera.
O javali assado é comido e refrescos servidos em vasos de cerâmica de impressionante decoração — um contraste com a cerâmica do Mesolítico simples e sem graça que Lubbock viu em outros lugares. Alguns têm um padrão de tabuleiro de xadrez, outros linhas sinuosas pontilhadas, feitas com ponta de faca sobre o barro úmido. Alguns vasos têm linhas paralelas e parecem de excelente qualidade — lisos e uniformes, mesmo nas superfícies, com paredes finas e forma elegante.
O banquete continua pela noite adentro e é seguido por relatos de histórias, canto e dança. Na manhã seguinte, os visitantes partem carregados de peles e com Lubbock a reboque. Os que ficam em Ringkloster continuam a captura com armadilhas e a caça, e o farão até muito depois da presença dos primeiros agricultores na própria Dinamarca. Soren Andersen escavou o assentamento na década de 1970; Peter Rowley-Conwy analisou os ossos de animais e encontrou vestígios de caça de javali e intensa captura de animais peludos em armadilhas, Descreveu certa vez Ringkloster "como o mais excelente de todos os sítios".
Lubbock continua com as peles de marta enquanto são trocadas de grupo em grupo pela costa leste da Jutlândia, Zelândia, Aero, e por fim no norte da Alemanha. Ao viajarem para o sul, as pessoas do Mesolítico parecem cada vez mais preocupadas com a identidade e limites territoriais: cada grupo pode ser identificado pelas roupas e estilos de penteado, e pela maneira como fazem seus instrumentos. Algumas têm os arpões retos e outros curvos; uns fizeram seus machados de pedra com lados paralelos e outros com uma cortante lâmina evasê. Lubbock lembra a época em que começou o Mesolítico, a época de Star Carr — quando uma virtual identidade existia na cultura humana em todo o norte da Europa. A antiga ordem mesolítica fragmentou-se e logo desapareceu.
Os fardos de peles vão aos poucos reduzindo-se em número e aumentando em valor. Por fim, não resta mais que um pequeno cesto de peles de marta. Lubbock observa quando estas são levadas para a clareira de uma floresta no norte da Alemanha em 4.400 a.C. Um caçador, acompanhado pelos dois filhos e a filha pequena, estende-a no chão. Um homem avança das árvores do outro lado e põe um machado de pedra polida junto às peles. Sem poder comunicar-se com palavras, os dois — um do Mesolítico e o outro do Neolítico LBK — usam sutis movimentos da cabeça, estreitam olhos e erguem sobrancelhas para assegurar que suas opiniões sejam entendidas. Assim que a troca é feita, cada um recua, antes de erguer uma das mãos em despedida. Quando o caçador-coletor parte com a filha e os filhos, ouve o chamado do agricultor. Ao voltar-se, o agricultor aponta a menina. O caçador-coletor pára e depois concorda — na próxima vez que se encontrarem, ela será sua esposa. O caçador-coletor a conduz pela pequena mão para a trilha que leva ao terreno de sua casa e imagina os machados e grãos de cereal que trará a união.
Lubbock está na fronteira — entre os agricultores LBK e os caçadores-coletores nativos das florestas. A clareira é um conhecido lugar de encontro, mas ainda nada demarcada por construções humanas. Poucas gerações depois, os agricultores vão construir casas e cercá-las com um fosso. Os arqueólogos acabarão conhecendo seu povoamento como Esbeck. Alguns afirmarão que o fosso foi feito para defesa contra os caçadores-coletores remanescentes, que se tornaram hostis depois que sua cultura mesolítica desapareceu quase por completo.
21
Um Legado Mesolítico
O Neolítico no sul da Europa,
6.000 - 4000 a.C;
Debates de lingüística e genética históricas
A viagem de canoa final das excursões européias de Lubbock leva-o além das ilhas que se erguem como gigantescas rochas entre os Países Baixos e o sul da Inglaterra. Estas, e uma ilha maior ao largo de Yorkshire, são todas remanescentes da Doggerland — as terras baixas pelas quais Lubbock seguiu a pé após deixar Creswell Crags em 12.700 a.C. A Grã-Bretanha é de novo uma ilha — pela primeira vez em 100 mil anos.
Lubbock não tem tempo para retornar à Caverna Gough, percorrer a floresta de carvalhos que agora se expande onde ele pegou com armadilha lebres árticas na tundra e viu corujas da neve. Sua jornada européia está quase no fim. Numa escura noite no ano de 4.500 a.C., ele se aproxima de um assentamento hoje chamado pelos arqueólogos de Téviec e localizada na costa do norte da França. Seu destino é assinalado por luz de fogueira e música. Um banquete e um enterro em andamento, com talvez uma centena de pessoas atentamente concentradas em silhuetas que oscilam perto das chamas.
A dança e o canto param de repente, e os elementos são absorvidos: o crepitar das chamas, o distante quebrar dos vagalhões do Atlântico e o vento uivante. Lubbock olha o cadáver junto ao fogo: um homem com uma basta barba e espessos cabelos pretos, o corpo vestido, decorado com contas e salpicado de ocre vermelho.
Um vulto fantasiado — semi-humano, semiveado chifrudo — salta sobre as chamas batendo um tambor. Dirige-se ao morto e ordena que sejam levantadas lajes de pedra da terra. Duas mulheres avançam e erguem-nas, expondo outro corpo numa sepultura ladeada por pedras. Lubbock curva-se para a frente e vê os ossos claramente definidos entre a pele amarela esticada. O xamã ajoelha-se junto à sepultura e afasta para o lado o corpo desidratado — que se desintegra, os ossos misturando-se com outros ainda mais velhos já empilhados dentro. O novo corpo é posto na cova. Um por um dos pertences do falecido é arrumado ao seu lado e um conjunto de lâminas de sílex sobre seu peito. Após mais um borrifo de ocre vermelho, as lajes são recolocadas no lugar. Acende-se então uma fogueira na sepultura, na qual se põem solenemente as mandíbulas de um veado-vermelho e um javali. Quando as chamas se extinguem, reiniciam-se o canto, a dança e o banquete. John Lubbock participa — da última dança de suas viagens européias.
O assentamento-cemitério mesolítico de Téviec foi descoberto e escavado pelos arqueólogos franceses M. e S. J. Péquart em fins da década de 1920 e na de 1930, junto com um cemitério vizinho conhecido como Hoëdic. Esses sítios haviam sido localizados muito antes em baixos outeiros numa extensa planície litorânea, mas o mar em elevação deixara-os em ilhotas ao largo da Grã-Bretanha.
O estudo dos túmulos, esqueletos e detritos domésticos mostrou que os habitantes mesolíticos da fronteira marítima do Atlântico partilhavam muitas características com os das terras escandinavas. Tinham uma alimentação diversa — grandes mamíferos, aves aquáticas, crustáceos, frutos e nozes — e lutavam para proteger seu território e suas mulheres. Também usavam a roupa para anunciar sua identidade: os alfinetes dos mantos usados pelos enterrados em Téviec eram feitos dos ossos de javali, e os das pessoas de Hoëdic, de ossos de veado. Poucos de nós hoje saberíamos diferenciar esses prendedores de manto, mas as diferenças teriam sido gritantes aos olhos mesolíticos.
Os artigos valorizados pelas pessoas de Téviec e colocados em seus túmulos eram muito parecidos com os que Lubbock vira em outras partes: lâminas de sílex, dentes de gamo, presas de javali c adagas de osso. Os mais ricos encontravam-se de novo com os adultos mais jovens, que conquistavam sua riqueza pela força física e agilidade mental, e depois a perdiam quando a velhice lhes reduzia a rapidez. Como em Oleneostrovski Mogilnik, os homens eram enterrados com artigos mais utilitários que as mulheres, e os sexos tinham suas próprias jóias distintas: caurins para os homens e contas de litorina para as mulheres.
Os túmulos múltiplos são uma das mais impressionantes características dos cemitérios de Téviec e Hoëdic. Precisamos imaginar — assim como imaginaram os Péquarts e arqueólogos posteriores — que os enterrados em túmulo revestido de pedras eram membros de uma única família; os laços sangüíneos parecem ter sido de particular importância para essa gente. Mas nem todos os túmulos eram desse tipo. Muitos eram de indivíduos solitários, e alguns cobertos por estruturas em forma de tenda feitas de galhadas.
Não nos devemos surpreender com a abundante indicação de ritual e banquete em Téviec e Hoëdic: seus habitantes deviam sentir-se inseguros e precisavam apaziguar os deuses. Não apenas enfrentavam o impacto dos agricultores da cultura LBK, que viviam não mais de 50 quilômetros a leste, mas também perturbação idêntica vinda do sul.
Enquanto a LBK se espalhava pela Europa central, os sítios do Neolítico surgiam em volta da costa mediterrânea. Alguns arqueólogos acreditam que estes se originaram com a chegada de imigrantes, descendentes diretos de agricultores no oeste da Ásia cujos recentes ancestrais haviam criado assentamentos na Grécia e no sul da Itália, como Nea Nikomedeia. Outros arqueólogos rejeitam essa idéia; acreditam que o próprio povo nativo do Mesolítico do centro e oeste do Mediterrâneo adotou a cultura neolítica, após fazer contato com agricultores tio leste.
O ponto de concordância é que o Neolítico mediterrâneo entre 6.000 e 4.500 a.C. parece muito diferente do da Europa central. Naquela região, há uma clara separação entre sítios que têm o "pacote" Neolítico completo, por um lado — os da LBK com casas revestidas de madeira, gado, carneiro, colheitas, cerâmica e machados de pedra — e do outro sítios do Mesolítico, com microlitos, ossos de gamo e javali. No Mediterrâneo, porém, os elementos mesolíticos e neolíticos misturam-se em sítios individuais, parecendo ter sido usados pelas mesmas pessoas ao mesmo tempo. São predominantemente sítios de caverna e, para arqueólogos como James Lewthwaite, da Universidade de Bradford, e Peter Rowley-Conwy, esses sítios sugerem que os caçadores-coletores nativos escolheram seletivamente do pacote neolítico, sem desejar tornar-se eles próprios agricultores completos.
Lewthwaite afirmou que os habitantes mesolíticos da Córsega e Sardenha adotaram carneiros e cabras para compensar a falta de caça — os veados-vermelhos jamais colonizaram aquelas ilhas. Após fazer isso, evitaram os cereais e as casas de madeira para continuar com seu tradicional estilo de vida de caça e coleta, que agora se tornava mais seguro com os pequenos rebanhos dos quais cuidavam.
Outros caçadores-coletores optaram pela cerâmica do pacote neolítico como uma coisa útil na cozinha e eficaz para exposição social. Calcavam conchas no barro mole para fazer vasos de desenho, muito diferente de quaisquer outros leitos na Europa. Alguns preferiram adotar o cultivo de cereais para compensar lacunas sazonais na disponibilidade de alimentos selvagens: semeavam-se grãos, trigo ou cevada exatamente como se fossem mais uma planta selvagem. Em conseqüência dessa adoção parcial e desordenada do pacote neolítico, pessoas que não eram nem estritos caçadores-coletores do Mesolítico nem agricultores do Neolítico ocuparam o Mediterrâneo.
Os que usaram a caverna Arene Candide, na paisagem de rochedos escarpados e vales estreitos do noroeste da Itália, caracterizaram o tipo híbrido dos estilos de vida que surgira. Escavações na década seguinte a 1946 revelaram uma longa seqüência de camadas de ocupação, começando com os detritos de caçadores-coletores e terminando com agricultores completos. Entre os dois extremos, estavam os detritos de pessoas que viveram da caça de javali no estilo mesolítico e criação de ovelhas no estilo neolítico.
Esta foi a conclusão de Peter Rowley-Conwy, após estudar os ossos de animais. Ele constatou que os porcos tinham sido selvagens e caçados pelo grande tamanho dos ossos. Do mesmo modo, viu que os carneiros eram mantidos para dar leite, porque demasiados filhotes tinham sido mortos. Por esse método, o leite de fêmeas adultas ficava disponível para uso humano. Assim como as que habitavam a Córsega, as pessoas de Arene Candide no Mesolítico haviam fundido elementos da cultura neolítica com seu tradicional estilo de vida mesolítico.
Na década de 1980, a maioria das pessoas acreditava que esse tipo de adoção desordenada da cultura neolítica fora em grande parte responsável pela gradual disseminação da cultura agrícola por todo o centro e oeste do Mediterrâneo, depois ao longo da fachada atlântica de Portugal e França e pelos principais vales do Ródano e Garonne. Mas João Zilhão, da Universidade de Lisboa, já desde então contestava essa crença. Ele acha que devemos voltar às idéias popularizadas por Gordon Childe na década de 1930 sobre agricultores imigrantes que trouxeram o pacote neolítico completo às praias mediterrâneas.
Segundo Zilhão, os dados dos sítios das cavernas, que supostamente mostram cerâmica e carneiro lado a lado com animais caçados e artefatos mesolíticos, foram mal-interpretados. Essas associações, afirma, são causadas por animais furões, responsáveis por uma confusão total de qualquer estratigrafia que possa ter sobrevivido. Ele sugere que os ossos de cabras selvagens foram às vezes confundidos com carneiros domesticados, e as datas de radiocarbono são ou um erro crasso, por terem sido contaminadas, ou mal-interpretadas; e também que foram usadas para datar fragmentos de cerâmica com as quais não tinham a menor associação.
Zilhão enfatiza que a ascensão final do mar inundou a costa onde se tinham estabelecido as primeiras fazendas de colonizadores do Neolítico. Os sítios das cavernas sobreviventes na certa não passavam de acampamentos ocasionais usados pelos agricultores em excursões de caça, ou quando levavam os rebanhos aos pastos.
Para apoiar sua afirmação, Zilhão cita provas da Gruta do Caldeirão. Os achados dessa caverna portuguesa sugerem que um ou mais barcos carregados de colonizadores chegaram cerca de 5.700 a.C. e estabeleceram um assentamento agrícola, enquanto os povos indígenas do Mesolítico continuaram caçando e coletando inteiramente imperturbados. Em 6.200 a.C., grandes comunidades prósperas de caçadores-coletores tinham surgido nos estuários dos rios Tejo e Sado da região central de Portugal. Elas criaram monturos de conchas de tamanhos equivalentes aos de Ertebolle na Dinamarca. Pesquisas em outras partes em Portugal não encontraram quaisquer outros traços de presença mesolítica após 6.200 a.C. — parece que toda a população fora viver nesses estuários.
Os monturos portugueses eram usados como terrenos de cemitério, além de despejos de lixo — de forma muito semelhante aos da Grã-Bretanha. Os túmulos encontram-se predominantemente abaixo das camadas dos montes e parecem ter sido dispostos em discretos grupos, talvez de família. Alguns eram ladeados com grandes lajes de pedra, lembrando os túmulos de Téviec e Hoëdic. Essas semelhanças não devem surpreender. Embora nos falte qualquer comprovação direta do litoral do Atlântico, suas comunidades mesolíticas sem dúvida deviam ter grandes canoas, e usavam-na para percorrer longas distâncias na costa, estabelecendo contatos do sul de Portugal ao norte da França.
Entre 1979 e 1988, Zilhão escavou a Gruta do Caldeirão, localizada numa região ao norte dos monturos de conchas, e sem quaisquer sítios do Mesolítico. Os detritos neolíticos, entre eles cerâmica e instrumentos de pedra, foram encontrados diretamente acima dos de caçadores da era glacial, junto com vários ossos de carneiros domesticados e javali. Pastores que gostavam de dedicar-se à caça de vez em quando tinham evidentemente usado a caverna.
A Gruta do Caldeirão também era usada como necrotério. Cerca de 5.200 a.C., os corpos de três homens, uma mulher e uma criança foram estendidos no piso da caverna, as cabeças encostadas na parede, para os animais carniceiros e os elementos decompô-los, espalhá-los e enterrá-los. Duzentos ou 300 anos depois, no mínimo mais 14 indivíduos foram deixados na caverna.
Segundo Zilhão, esses cadáveres eram de agricultores cujos antepassados tinham chegado de barco à costa portuguesa. Ele especula que o assentamento agrícola deles ficava no vale, seus vestígios arqueológicos hoje enterrados no fundo, abaixo dos sedimentos fluviais. Durante várias centenas de anos, eles continuaram cultivando, enquanto os povos do Mesolítico continuaram caçando e coletando nos estuários dos rios mais ao sul, exatamente como faziam mais ao norte na Espanha. Zilhão indica que comunidades semelhantes de agricultores imigrantes, formando encraves inteiramente separados dos nativos povos do Mesolítico, espalharam-se por todas as regiões litorâneas do sul da Europa. Enquanto os que usavam a Gruta do Caldeirão floresciam, por volta de 5.000 a.C., os monturos dos estuários dos rios Tejo e Sado tinham sido abandonados. Não se sabe o que aconteceu com seus antigos habitantes; podem ter morrido ou simplesmente abandonado o estilo de vida de caça e coleta para tornarem-se eles próprios agricultores.
A disputa entre os que preferem a colonização por agricultores imigrantes, como Zilhão, e os como Lewthwaite e Rowley-Conwy, que acreditam que os povos do Mesolítico adotaram a cultura do Neolítico, poderia ser resolvida por um tipo de indício inteiramente novo que se tornou disponível recentemente para estudar o passado: a genética dos vivos hoje. Esse novo campo de estudo é conhecido como genética histórica e sua influência em nosso estudo do passado deve tornar-se cada vez mais disseminada e profunda. Como também vamos recorrer à genética histórica quando analisarmos o povoamento das Américas, será útil uma breve introdução a esse campo, antes de considerarmos seu impacto na questão européia.
A possibilidade de reconstituir a história da população através de genes humanos surge do fato de que, embora sejamos todos membros de uma única espécie, Homo sapiens, e termos um alto grau de semelhança genética, variamos em detalhes específicos. A semelhança está presente porque todas as pessoas no mundo hoje se originaram da mesma pequena população que viveu na África há mais de 130 mil anos. As rigorosas condições do penúltimo máximo glacial provocaram a redução da população a não mais de 10 mil indivíduos. Isso reduziu o total de variação genética atual, e é conhecido como um gargalo populacional. Quando ocorreu o aquecimento global há 125 mil anos, essa população se expandiu. As pessoas dispersaram-se da África e o primeiro Homo sapiens entrou na Europa, Ásia, e acabaram por chegar às Américas. Quaisquer populações existentes, como as do H. neanderthalensis na Europa, foram inteiramente substituídas sem dar contribuição alguma ao fundo de genes modernos.
Em conseqüência dessa história evolucionária, as pessoas hoje encontradas em extremos opostos da Terra são muito semelhantes em sua constituição genética. Mas não idênticas. Mutações aleatórias ocorrem constantemente, a maioria das quais sem efeitos positivos nem negativos em nosso comportamento e fisiologia. A probabilidade de exatamente a mesma mutação ocorrer de forma independente em duas pessoas diferentes c extremamente remota. Portanto, se duas pessoas têm a mesma mutação, é provável que tenham partilhado um ancestral recente no qual ocorreu essa mutação. E, claro, se essas duas pessoas vivem agora em diferentes partes do mundo, isso permite aos especialistas em genética reconstituir o padrão da dispersão humana.
E mais. Pode-se considerar constante a taxa de mutação genética — embora se é isto na verdade que ocorre ainda não foi estabelecido. Medindo-se a extensão da variabilidade genética entre duas populações humanas, e tendo-se uma estimativa para a taxa na qual ocorrem as mutações, pode-se calcular a quantidade de tempo transcorrido desde que as duas populações ficaram isoladas uma da outra.
Esses fatos brutos proporcionaram a base para um método completamente novo de estudar o passado humano — e que dispensa manuais de história e até mesmo escavações arqueológicas. E necessário apenas documentar e depois interpretar a variabilidade genética encontrada cm seres vivos de todo o mundo, e então se podem estabelecer os padrões e datas de dispersões, migrações e colonizações passadas. Mas, em todas as áreas da ciência, pôr a teoria em prática é muitas vezes mais difícil que o previsto.
Luca Cavalli-Sforza foi o paladino da genética histórica. Seu livro de 1994, História e Geografia dos Genes Humanos, co-escrito com dois colaboradores, é um dos pontos de referência acadêmica na criação de nossas visões da história humana. Nesse livro, Cavalli-Sforza afirmou que o mapa genético do tempo moderno da Europa mostra um gradiente de freqüências de gene do sudeste ao noroeste. Isso só poderia ser, alegou, um legado dos imigrantes neolíticos que se propagaram da Grécia, pelo leste, centro e sul da Europa até chegarem ao extremo noroeste. Fato que se tornou conhecido como modelo da "onda de avanço", que não dava ao povo indígena do Mesolítico papel algum em todo o desenvolvimento neolítico europeu. Segundo essa visão, o povo da cultura LBK tinha de ser descendente de imigrantes do oeste da Ásia, e não do mesolítico local, como propôs mais recentemente Zvelebil; a interpretação de Zilhão da região mediterrânea tem de ser preferida à de Lewthwaite e Rowley-Conwy.
O modelo da "onda de avanço" ganhou mais apoio, em 1987, de outra fonte de indícios não arqueológicos. Cohn Renfrew — sucessor de Grahame Clark como Professor da cadeira Disney de Arqueologia em Cambridge — dedicou-se à um dos problemas-chave de lingüística histórica: a origem da família de línguas indo-européias. Essa família inclui quase todas as línguas faladas hoje na Europa, e a lingüística há muito tem debatido quando e onde a língua da qual elas evoluíram era falada.
Renfrew forneceu uma convincente resposta: a proto-indo-européia como é chamada a língua original, era falada pelo povo neolítico da Anatólia — a Turquia da época moderna — e/ou do oeste da Ásia em 7.500 a.C. Espalhou-se por toda a Europa e algumas partes do centro e do sul da Ásia, enquanto os agricultores migrantes neolíticos colonizavam essas terras. Segundo Renfrew, as línguas não indo-européias, como a basca e a finlandesa, refletem as regiões onde populações mesolíticas sobreviveram e contribuíram para o Neolítico, e por fim para a diversidade lingüística e cultural da época moderna. Mas essas foram poucas e distantes entre si: as afirmações de Renfrew se encaixam perfeitamente nas datas genéticas de Cavalli-Sforza indicando a "onda de avanço" de agricultores neolíticos imigrantes pela Europa.
As afirmações de Renfrew sofreram imediato ataque tanto de lingüistas quanto de arqueólogos — sendo o problema-chave que as línguas podem se espalhar inteiramente independentes das pessoas. Uma contestação das afirmações de Cavalli-Sforza veio em 1996 de Bryan Sykes e seus colegas na Universidade de Oxford. Eles estudaram um tipo de DNA diferente do DNA nuclear em que se baseou Cavalli-Sforza — o DNA mitocondrial — e chegaram a uma conclusão muito diferente.
A maior parte do nosso DNA encontra-se no núcleo de cada célula e é herdada em iguais proporções de mãe e pai, por um processo conhecido como "recombinação". Isso envolve uma imprevisível mistura de genes dos pais, e quando repetidos geração após geração a possibilidade de reconstituir a história evolucionária torna-se extremamente difícil. O DNA mitocondrial (DNAmt) é encontrado no corpo da célula, e não no núcleo, e herdado apenas da mãe. Adquiri todo meu DNAmt de minha mãe, e nada dele passou para meus filhos. Sem as complexidades da recombinação, a relação genética entre as pessoas é muito mais fácil de estabelecer, e em geral considerada mais precisa.
O DNA mitocondrial também tem uma taxa de mutação muito mais alta que o DNA nuclear, e uma freqüência muito mais alta dessas mutações é inteiramente neutra, não beneficiando nem prejudicando a saúde do indivíduo. O valor disso é apenas que existe o potencial para se obter uma imagem muito mais detalhada da história humana que do DNA nuclear simplesmente porque, com o passar do tempo, mais indícios são estabelecidos pelas mutações aleatórias que ocorrem. Por esse meio, grupos de linhagem podem ser identificados — grupos de pessoas que descenderam todas da mesma mulher, na verdade da mesma molécula de DNAmt.
Quando Sykes e seus colegas examinaram o DNAmt de 821 indivíduos distribuídos pela Europa, descobriram que havia seis grupos claros de linhagem; isso logo indicou que os europeus são mais diversos geneticamente do que sugeria o modelo da "onda de avanço". Fazendo a melhor estimativa-palpite para a taxa em que ocorrem as mutações DNAmt, Sykes e seus colegas calcularam a data em que surgira cada linhagem européia. Apenas uma dessas era suficientemente recente para relacionar-se com a imigração de agricultores do oeste da Ásia, e na verdade tinha alguns marcadores genéticos que apontavam para uma origem asiática ocidental. Além disso, sua distribuição geográfica na Europa combinava com as duas rotas de colonização arqueologicamente reconhecidas: o centro da Europa e a costa mediterrânea. Mas esse grupo só constituía 15% do número total de linhagens nos seis grupos. Todas as outras linhagens datavam de entre 23 mil e 50 mil anos atrás, indicando que 85% das linhagens DNAmt já se achavam presentes no Mesolítico, havendo-se originado durante a era glacial precedente. A onda de avanço não passara de uma marola.
Trata-se de uma conclusão surpreendente, e levou a um intenso debate acadêmico entre Cavalli-Sforza e Skyes, os dois questionando a validade dos métodos um do outro. Um problema-chave dos indícios DNAmt é que só reconstituem a linha feminina. Se os imigrantes preferiram tomar como esposas mulheres mesolíticas — como é bastante provável — o registro DNAmt logo deixará de registrar até mesmo a presença dos imigrantes. No entanto, a conclusão de Skyes fortaleceu a posição de arqueólogos como Zvelebil, Rowley-Conwy e Lewthwaite. Se Zilhão realmente identificou um encrave de agricultores imigrantes em Portugal em 5.700 a.C., eles deram pouca contribuição ao desenvolvimento global do Neolítico na Ibéria. Por isso precisamos agradecer às pessoas do Mesolítico cujos antepassados ocuparam os monturos nos estuários dos Tejo e do Sado.
Skyes e Cavalli-Sforza continuam em disputa hoje, mas seus resultados mais recentes têm convergido, e alguns arqueólogos — como Colin Renfrew — agora acham as conclusões deles bastante compatíveis. Enquanto Cavalli-Sforza reduziu a contribuição dos agricultores imigrantes para o fundo comum de genes a 28%, Skyes aumentou sua estimativa para pouco mais de 20%. Esses cálculos parecem próximos demais para sustentar qualquer controvérsia, e precisamos concluir que o povo indígena do Mesolítico desempenhou no mínimo um papel tão grande quanto o dos agricultores imigrantes no desenvolvimento do Neolítico europeu.
Os genes dos caçadores-coletores do Mesolítico talvez sejam dominantes entre os europeus hoje, mas o estilo de vida deles não sobreviveu muito além de 4.000 a.C. Só no extremo norte da Europa a caça e a coleta tiveram vida mais longa, Continuando até no mínimo 1.000 a.C., depois que o pastoreio assumiu a predominância. Quanto às regiões temperadas, os que se banqueteavam, dançavam e enterravam seus mortos em túmulos revestidos de pedra em Téviec e Hoëdic foram algumas das últimas pessoas do Mesolítico na Europa.
As comunidades mesolíticas da Suécia e Dinamarca, as que tinham vivido em Skaleholm, Vedbaek, Tybrind Vig e Ertebolle, acabaram desabando sob a nova ética de competição introduzida pelo contato com a LBK. O lento e constante escoamento de mulheres como esposas e rapazes como trabalhadores deixou as comunidades esgotadas. Os que permaneceram não mais continuaram a afinidade com o veado-vermelho e o javali; também eles desejavam riqueza material, poder social e controle do mundo natural. Desejavam tornar-se eles próprios agricultores, e assim o fizeram por volta de 3.900 a.C.
Como agricultores, foram muito diferentes dos da LBK. Criaram gado, Usaram habitações tipo mesolíticas e ocuparam os mesmos monturos de conchas que seus antepassados do Mesolítico. Como para compensar a ausência de arquitetura doméstica, construíram imensos monumentos fúnebres que chamamos túmulos longos — preferindo erigir casas para os mortos em vez de para os vivos. Sua inspiração veio das compridas habitações comunais da LBK. Os túmulos longos foram uma tentativa dos novos agricultores de alinhar-se com os agricultores que tinham vindo originalmente do leste e negar seu próprio passado mesolítico.
Quase a mesma coisa ocorreu ao longo do litoral do Atlântico quando os caçadores-coletores de Téviec e Hoëdic foram engolidos pelo novo estilo de vida agrícola. Surgia mais um tipo de Neolítico, no qual as pessoas construíam túmulos de pedras e grandes lajes. Em vez de aludir aos agricultores ancestrais do leste, esses túmulos megalíticos lembravam o passado mesolítico — as sepulturas de pedra lascada nos monturos de conchas portuguesas e as de família de Téviec. No extremo noroeste da Europa, sobretudo na Grã-Bretanha, túmulos longos e túmulos megalíticos eram partes integrais da nova cultura neolítica. Em 4.000 a.C., a Europa era quase toda habitada por um ou outro tipo de agricultores. Começara um novo capítulo em sua história, que eliminaria quaisquer vestígios restantes do mundo mesolítico. Pelo menos, isto era o que pensávamos até a descoberta de um inesperado legado do Mesolítico em nossos genes.
22
Um Enviado Escocês
Colonização, estilos de vida mesolíticos e a transição para o Neolítico no oeste da Escócia,
20.000 – 4.300 a.C.
Minha versão da história européia, desde as pinturas de Pech Merle à origem dos túmulos megalíticos, esqueceu várias regiões do continente, que se estendem do extremo sul da Itália ao norte da Noruega, dos Alpes suíços à Meseta espanhola. Embora faltasse a essas regiões o drama que ocorreu em outros lugares, elas são parte da história européia c sua arqueologia fornece mais intuições sobre como as pessoas reagiram ao aquecimento global e à agricultura.
Infelizmente, todas, com exceção de uma, têm de continuar ignoradas, pois esta versão logo deve cruzar o Atlântico para tratar dos primórdios da história americana. A única exceção é uma região onde eu mesmo passei muitos anos em busca do passado mesolítico: a Escócia. Não toda a Escócia, mas duas ilhas ao largo na ponta mais ao sul da cadeia insular das Hébridas, ao largo da costa ocidental. Trata-se de Islay e Colonsay que, junto com as ilhas vizinhas de Jura e Oronsay, formam um pequeno arquipélago conhecido como Hébridas do Sul. Embora fiquem na periferia geográfica da Europa e sejam desprovidas de quaisquer sítios espetaculares como Lepenski Vir ou Skateholm, essas ilhas têm sua própria história, que contribui para nossa compreensão da Europa como um todo. Assim, nesse enviado à Europa, vou contar brevemente a história delas desde a era glacial até o Neolítico, pelo relato de minhas próprias escavações nessas ilhas.
As quatro ilhas das Hébridas do Sul partilham várias características típicas do oeste da Escócia, c no entanto são muito diferentes umas das outras. São em grande parte desprovidas de árvores, têm litorais acidentados com baías arenosas. Suas populações atingiram o pico no século XIX e foram diminuindo aos poucos desde então; predomina a criação de gado ovino, embora a atividade seja economicamente muito dispendiosa. Islay, cobrindo mais de 600 quilômetros quadrados, é a maior e mais diversa, com extensas charnecas de urzes e dunas, uma substancial cidade principal, várias aldeias e a maior densidade de destilarias de uísque da Escócia. Colonsay é muito menor, não mais de 13 quilômetros de largura, menos de 5 quilômetros de comprimento, enquanto Oronsay — ligada a Colonsay na maré baixa — é um minúsculo cisco de terra de menos de cinco quilômetros quadrados de extensão. Jura é outra ilha grande e muito mais acidentada que Islay, a paisagem dominada por três picos cônicos conhecidos como os Paps.
Em 20.000 a.C., essas ilhas eram quase inteiramente cobertas pela camada de gelo que se estendia até o extremo sul das chamadas terras médias inglesas. Havia apenas uma zona livre do gelo — uma colina, hoje denominada Beinn Tart a’Mhill, e as baixadas em volta que hoje formam "a Rinns", península mais Ocidental de Islay. O fato de ter escapado ao gelo é crucial para a história posterior da ocupação humana. Isso deixou intatos seus sedimentos ricos em sílex, que acabariam fornecendo matérias-primas para os primeiros habitantes de Islay e influenciando onde escolheram viver.
Durante cinco mil anos, as encostas de Beinn Tart a'Mhill erguiam-se acima das paisagens terrestres e marítimas de neve e gelo em volta. Cinqüenta quilômetros a leste, os Paps de Jura perfuravam o gelo e pareciam vulcões fumegando quando cercados por nuvens. Um canal marítimo isolava a Rinns do resto de Islay, transformando-a numa ilhota ao largo.
Por volta de 15.000 a.C., o gelo começou a derreter-se; a fachada da geleira recuou para leste até, em 12.000 a.C., as Hébridas do Sul ficarem completamente livres. As planícies da Rinns eram agora cobertas por grandes faixas de areia e saibro. A leste havia outeiros de pedra e sedimento — morainas — que assinalavam o lugar até onde tinham chegado as geleiras, tendo este sido nivelado e devolvido à posição pelo gelo. Mais a leste, houve um complexo quebra-cabeça de pântanos, rochas expostas, areias, aluviões e calhaus antes de se chegara mais mar, o trecho de água que separa Islay do continente escocês.
Dentro de mais mil anos, formara-se uma camada de solo, sustentando uma mistura de matos e pequenos arbustos — tundra tipo ártica. Aliviada da massa de gelo, a terra elevou-se em altura, fazendo baixar o nível do mar. O canal que antes corria entre a Rinns e a fachada da geleira tornou-se rasa e muitas vezes seca na maré baixa.
Nessa data — 11.000 a.C. — grande parte da Inglaterra fora recolonizada por pessoas que seguiam os passos dos pioneiros que tinham esquartejado seus mortos na Caverna Gough e capturavam lebres árticas em Creswell Crags. A Escócia, porém, continuou inteiramente despovoada até 8.500 a.C. Mas se tinham feito visitas exploratórias a partir do sul; um grupo de caça da era glacial chegara a Islay e perdera pelo menos uma ponta de flecha — uma ponta de sílex desenhada na mesma forma das usadas para caçar rena em Stellmoor, em 10.800 a.C.
Um dos meus alunos encontrou essa ponta numa tarde de agosto de 1993, quando colhíamos artefatos de sílex num campo arado perto da aldeia de Bridgend, em Islay. Foi posta num saco junto com várias peças não identificadas mas com chance de ser do Neolítico ou da Idade do Bronze. Só constatei isso alguns dias mais tarde, depois que ela foi lavada e deixada para secar em nosso laboratório de campo. Meus colegas Bill Finlayson e Nyree Finlay, os dois da Universidade de Edimburgo e peritos em artefatos de pedra, concordaram que poderiam ser uma ponta Ahrensbur. Mas nenhum de nós pôde ter certeza. Se assim fosse, significava que pessoas haviam estado na Escócia dois mil anos de qualquer assentamento conhecido.
A ponta de Bridgend não foi a primeira de flecha ahrensburiana encontrada na Escócia; cinco outras de desenho semelhante tinham sido descobertas antes — duas nas ilhas Orkney, duas em Jura e uma em Tiree, outra ilha das Hébridas. Mas estavam quebradas, ou eram de desenho questionável, ou não podiam ser incluídas numa locação exata, tendo sido encontradas muito antes da adoção dos métodos de registro modernos. O novo espécime era completo, parecia idêntico a uma ponta ahrensburiana, e sabíamos o lugar exato onde fora encontrada. E assim, logo voltamos ao campo e fizemos uma coleta mais intensa de seus sílex, na esperança de encontrar o primeiro assentamento da era do gelo na Escócia. Mas os únicos artefatos que encontramos eram de evidente data do Neolítico ou da Idade do Bronze.
O campo em Bridgend era apenas mais um dos vários que minha equipe vasculhava em busca de assentamentos pré-históricos, como parte do projeto que dirigi em Islay e Colonsay entre 1987 e 1995. Embora registrássemos sítios do Neolítico e períodos posteriores, meu interesse era encontrar os de uma data da era glacial e — idealmente — mesolítica. Os primeiros foram relativamente fáceis de descobrir. Encontramos mais de vinte conjuntos de artefatos distintivamente mesolíticos — instrumentos e os detritos de sua fabricação.
Quando em Islay, deixava muitas vezes meus alunos trabalhando nos campos ou lavando sílex e encontrava-me com Alistair Dawson, da Universidade de Coventry, um especialista em refazer as mudanças do nível do mar na Escócia. Nós dois e Kevin Edwards, agora da Universidade de Aberdeen, que estudava grãos de pólen da turfa de Islay, tentávamos descobrir como fora a ilha para seus antigos habitantes do Mesolítico.
Alistair é um escocês que parece sentir-se mais à vontade nas colinas ou nas praias selvagens do Atlântico que no laboratório ou numa sala de conferência. Tinha sua própria equipe na ilha e extraiu longas colunas de sedimento de Grui-nart — a parte de extrato mais inferior da ilha através da qual correra o canal marítimo que outrora isolava a Rinns. À medida que se aprofundavam suas colunas, ele descobriu que o sedimento mudava da turfa da época moderna para aluvião e barro depositados pela água do mar; abaixo dessa, havia turfa, um retorno à terra seca, antes de os sedimentos tornarem-se mais uma vez depósitos marinhos. No laboratório de sua universidade, Alistair extraiu diatomitos — plânctons fossilizados — dos sedimentos; a sucessão de diferentes tipos revelou-lhe as sutis mudanças de terra seca a água salobra, água marinha e depois a sucessão inversa, da mesma maneira como os grãos de pólen informavam sobre a história da vegetação. Alistair também retirou pequenos gravetos e outro material vegetal. Estes foram datados por radiocarbono para estabelecer exatamente quando haviam ocorrido as inundações.
Examinando os sedimentos, diatomitos e as datas de radiocarbono, Alistair refez a trajetória do nível do mar em volta das Hébridas, que caíra imediatamente depois que as camadas de gelo desapareceram por volta de 13.000 a.C., atingindo em seguida um nível semelhante ao de hoje, cerca de 8.500 a.C. Ele descobriu que no decorrer de mais dois milênios, o nível do mar subira mais uma vez, inundando o canal de Gruinart e isolando a Rinns do resto de Islay. Mas o oeste da Escócia não parará de subir e descer, após haver sido aliviado do grande peso de gelo, e acabara ultrapassando o mar em ascensão. E desse modo, cerca de dois mil anos atrás, o canal mais uma vez se tornou terra seca e assim continuou até hoje.
Alistair também "lia" a paisagem moderna a fim de entender seu passado da era glacial. Havia, por exemplo, os outeiros de rocha e saibro cobertos de urzes que assinalavam a extensão mais a oeste da geleira. Perto dali, ele constatou um monte de areia e saibro longitudinal que descreveu como uma moraina. Marcava onde outrora um túnel d'água corria embaixo do próprio gelo, entupido pelo saibro; quando o gelo derreteu-se, o que antes era um túnel foi deixado como sua imagem refletida, um monte longitudinal arredondado. Nós caminhamos ao longo das praias e examinamos montes de calhaus, vários metros acima da marca da maré alta, que mostrava como o nível do mar fora antes mais alto do que é hoje.
Quando nos planaltos da Rinns, Alistair mostrou-me um espessa argila laranja que fica embaixo das urzes e teria sido levada pelas águas se a camada de gelo tivesse coberto toda Islay. Esse barro fora criado vários milhares de anos antes do LGM, quando toda a ilha ficava sob uma camada de gelo flutuante durante uma glaciação anterior. Seu interesse para mim estava nos grandes nódulos de sílex que continha, transportados por uma geleira muito antiga dos depósitos de greda agora sob o mar da Irlanda. Durante vários milhares de anos, o sedimento laranja vinha sofrendo erosão e caindo no mar; esses nódulos de sílex angulosos foram levados de volta às praias da Rinns como seixos inteiramente lisos e arredondados.
Em nenhum outro lugar da Escócia se encontrariam tantos seixos tão grandes e de excelente qualidade, Como o sílex era uma matéria-prima fundamental para os caçadores-coletores pré-históricos, tive certeza de que se pioneiros da era glacial tivessem chegado à Escócia, logo teriam descoberto a Rinns e continuado caçando em sua vizinhança. Mas, lamentavelmente, quase uma década de pesquisa e escavação em Islay não originou mais indícios de caçadores-coletores da era do gelo além da única ponta de sílex de Bridend.
As primeiras pessoas a estabelecer-se na Escócia chegaram em 8.500 a.C., viajando do norte da Inglaterra e deixando-nos seu mais antigo sítio conhecido em Cramond, perto de Edimburgo. Não se conhecem quaisquer sítios nas Hébridas do Sul até 7.000 a.C. Quando acabaram chegando, as pessoas foram atraídas a Rinns com seus ricos depósitos de seixos rolados. Um dos primeiros assentamentos localizou-se a não mais de uma centena de metros de uma praia rica em sílex; foi uma oficina do Mesolítico, onde se separaram pela primeira vez os seixos.
Esse sítio passou a ser conhecido como Coulererach, tendo sido descoberto por Sue Campbell, que cultiva uma fazendola do mesmo nome na costa oeste de Islay. No período de vários anos, ela coletou lâminas de sílex, lascas e pedras quebradas em suas valas de drenagem e entregou-os ao museu da ilha numa caixa de sapato. Ao vê-los em 1933, logo percebi que ela descobrira um sítio mesolítico. Escavamos vários pequenos "poços de teste" em seu pasto, para localizar o sítio, e depois uma longa vala, tendo de atravessar dois metros de turfa para chegar à superfície do terreno mesolítico. Ali se espalhavam artefatos e detritos de fabricação de artefatos, as bordas tão novas quanto no dia em que tinham sido feitos.
Nyree Finlay — hoje da Universidade de Glasgow — examinou a coleção e encontrou alguns seixos habilmente trabalhados, junto com outros que apenas tinham sido desbastados a pancadas. Alguns eram tão pequenos e tinham tantas inclusões de cristais, que nenhum quebrador de sílex experiente os teria escolhido para trabalhá-los. Nyree sugeriu que Coulererach era o lugar onde as crianças aprendiam a fazer alguns artefatos de sílex, muitas vezes usando as pedras rejeitadas pelos peritos em fragmentação ou encontrando-os por si mesmas nas praias. Era o equivalente a Eliolles na França.
Ao contrário dos escavadores em Eliolles, porém, não conseguimos expor grandes áreas da superfície do terreno mesolítico no pasto de Sue Campbell, pois a escavação levava a permanente alagamento. Desse modo embora encontrássemos fragmentos de carvão, jamais descobrimos os locais de fogueira do Mesolítico, nem soubemos se se tinham construído cabanas em Coulererach. Adquirimos apenas uma coleção de artefatos de pedra e tivemos de adivinhar se haviam ocorrido antes outras atividades além da feitura de instrumentos. Desconfio que sim, pois Coulererach fica perto de Loch Gorm, que é o maior lago no interior de Islay. Eu via o tempo todo lontras e gamos em volta de suas margens, e desconfio que as pessoas que acamparam cm Coulererach, cm 6.500 a.C. caçaram esses animais.
Nessa época, a paisagem de Islay era muito diferente dos desolados pântanos de turfa cobertos de urzes atuais. Os grãos de pólen vedados dentro e abaixo da turfa de Coulererach nos disseram que salgueiros e amieiros cresciam nos tempos mesolíticos, junto com bétulas e carvalhos, no terreno superior e mais seco. A turfa também continha pequenos fragmentos de carvão. Alguns tinham sido transportados pelo vento de lareiras de cozinha, mas sua quantidade sugeria o incêndio deliberado de árvores e juncos em volta do lago — exatamente como o que ocorrera em Star Carr em 9.500 a.C."
Coulererach foi apenas um dos vários sítios mesolíticos em Islay que examinamos. Todos apresentaram grandes números de artefatos de sílex, mas infelizmente nenhum osso (de animal ou humano), pois tinham sido destruídos pelos solos ácidos da ilha. Os ossos de animais nos teriam ajudado a descobrir quais sítios tinham sido usados em qual estação, como fizera Peter Rowley-Conwy em Skateholm, Ringkloster e vários outros sítios na Europa. Mesmo assim, os instrumentos de pedra de cada sítio indicavam quais atividades tinham ocorrido ali.
Em contraste com os de Coulererach, os artefatos que escavamos em Gleann Mor, um sítio localizado nos planaltos e a vários quilômetros de uma praia de seixos, consistiam de diversos pequenos núcleos de sílex jogados fora no fim de sua vida útil. Parece que um acampamento de caça ali foi usado apenas em uma ou duas ocasiões, quando as pessoas procuravam gamos na Rinns. Alguns tinham sido feitos de minúsculas lascas, mais provavelmente resto de um suprimento que fora transportado pela ilha. De Gleann Mor, os caçadores-coletores devem ter retornado a um sítio como Coulererach para reabastecer seus sacos de instrumentos.
Encontramos um sítio na margem leste do estuário que chamamos Aoradh, nome de uma fazenda próxima. Era quase vizinho de um esconderijo de observação de pássaros, e imaginamos que as pessoas do Mesolítico tinham feito a mesma coisa que os visitantes modernos. O estuário de Gruinart é hoje famoso por seus bandos de gansos de inverno que passam todo verão no Ártico — um padrão migratório que provavelmente remonta ao Holoceno Inicial. Como os do Mesolítico, os observadores de pássaros modernos em Gruinart vêem mais que gansos. Focas muitas vezes se congregam nos bancos de areia no estuário, e lontras brincam nas partes rasas; aves a patinhar sondam a lama; francelhos e falcões-peregrinos mergulham para pegar roedores nas dunas, e muitas vezes se vêem veados-vermelhos entre as árvores. Sem sinais do mundo moderno à vista, podemos sentar-nos em Gruinart e sentirmo-nos perto do que viram os olhos mesolíticos.
A quantidade de artefatos em Aoradh também sugeria que esse sítio não fora usado mais que em algumas ocasiões; provavelmente há muitos conjuntos de artefatos ao longo das margens do estuário. Mas outro sítio que escavamos, Bolsay, fora sem dúvida um local muito preferido, usado repetidas vezes ao longo de várias centenas de anos. Hoje esse sítio fica no pasto aberto e perto de um pântano conhecido como Loch a'Bhogaidh; no Mesolítico, situava-se na floresta, vizinho a uma fonte, e Loch a'Bhogaidh fora um lago de água doce. A escavação em Bolsay foi a maior que empreendi, recuperando mais de 250 mil artefatos de sílex, que não passavam de uma pequena fração dos enterrados no terreno.
A princípio achamos que Bolsay fora um acampamento-base mesolítico, mas quando se analisaram os instrumentos, vimos que eram dominadas por microlitos, muitos deles usados como pontas de flecha. Havia poucos sinais de vida doméstica, como instrumentos para limpar couros e buracos de estaca para moradias. Os microlitos se tinham aparentemente acumulado em muitas visitas breves de caçadores que se sentavam perto da fonte enquanto consertavam equipamento de caça, aproveitando um dos mais privilegiados lugares na ilha.
Escavações em Coulererach, Gleann Mor, Aoradh c Bolsay forneceram vislumbres de como diferentes locais em Islay tinham sido usadas para diferentes atividades durante o Mesolítico. Mas as pessoas não se limitaram a apenas uma ilha. Durante as décadas de 1960 c 1970, um dedicado arqueólogo amador chamado John Mercer encontrou vários conjuntos de microlitos em Jura. Foi na muito menor ilha de Colonsay, porém, que obtivemos uma visão inteiramente inesperada da vida do Mesolítico.
Procurar sítios mesolíticos em Colonsay é quase como procurar agulha num palheiro, pois envolve a busca de microlitos em lamaçais de turfa c dunas de areia. Quando começamos a trabalhar ali, mal havia campos arados para examinar, "pois quase toda a agricultura já se transformara de lavoura em pasto — transformação ocorrida em todas as montanhas das ilhas escocesas desde a década de 1960. Passamos várias semanas cavando poços de teste no meio da turfa, musgo e areia soprada para chegar à superfície do terreno mesolítico em locais onde imaginávamos que se poderia encontrar um assentamento. Alguns punhados dispersos de artefatos de sílex foram recuperados, mas nenhum continha microlitos, e todos pareciam mais provavelmente datados da Idade do Bronze e do Neolítico. Começou a parecer que Colonsay fora totalmente deserta durante o período Mesolítico. Isso não teria sido surpreendente. Devido à sua distância do continente, muitos mamíferos jamais tinham colonizado a ilha; sem veado-vermelho, cabrito montes e animais de pêlo como a raposa para caçar, as pessoas do Mesolítico teriam pouco incentivo para remar canoas pelos 20 quilômetros de Islay ou Jura até Colonsay.
Nossas primeiras impressões, porém, estavam muito erradas. Houve uma ótima razão para visitar a ilha — como mostrariam nossas escavações em Staosnaig, uma pequena baía na costa leste de Colonsay.
Vi pela primeira vez essa estreita baía, com sua praia arenosa, da barca que faz a travessia marítima de três horas desde o continente escocês. Ela chega no norte de Staosnaig, onde o pequeno povoado de Scalasaig, com sua única loja e hotel luxuosos, se desenvolveu em volta do molhe. Dois dias depois, eu deixava minha equipe, de alunos cavando poços de teste no jardim do hotel para visitar Staosnaig, onde havia um dos poucos campos arados na ilha. "Campo arado" talvez seja um exagero, pois o solo era fino e arenoso; fora pouco mais que roçado para plantar sementes de capim. A areia vinha da praia mesolítica que agora fica diretamente embaixo do solo e era vários metros mais alta que a de hoje, Da barca, Staosnaig parecera o lugar ideal para a chegada de canoas mesolíticas, c imaginei um próspero sítio de acampamento em seu litoral. Por isso passei algumas horas vasculhando o terreno arado, confiante em que encontraria artefatos de sílex. Mas não havia nenhum.
Isso foi em 1988. Passei três semanas na ilha com meus alunos, inspecionando outras faixas escassas de terra arada e cavando poços de teste em prováveis locais de colonização. Em nosso último dia, retornei a Staosnaig e vasculhei mais uma vez o campo — desta vez encontrando um único nódulo de sílex que fora evidentemente golpeado por um martelo de pedra.
Esse achado levou-me a mais três visitas a Staosnaig, no verão de 1989, 1991 e 1992, durante as quais escavamos valas de teste em todo o campo, no esforço de encontrar a colônia que julguei tivesse ali existido. As duas primeiras visitas produziram apenas traços efêmeros de lareiras levadas pelas águas e frágeis quebra-ventos. Mas a perseverança acabou trazendo recompensas.
Em 1994, abrimos uma grande vala, que expôs uma cova circular de 4 metros de largura cheia de cascas de avelã carbonizadas e artefatos de pedra. Foi uma descoberta admirável — nada igual se encontrara na Escócia. Circundando esse depósito havia uma série de cavidades menores e mais profundas, cada uma simplesmente não encontrada em nossas escavações anteriores — terrível falta de sorte. A nova escavação levou o verão todo, um tempo idílico, pois se instalou em Colonsay uma onda de calor e nadávamos durante as interrupções do almoço e ao luar após os churrascos na praia.
Foram necessários outros cinco anos para analisar o material que recuperamos, exigindo vários especialistas para examinar os sedimentos, restos vegetais e artefatos de pedra. A cavidade grande continha não apenas fragmentos de cascas de avelã, mas também restos de caroço de maça e outras plantas, sobretudo quelidônia-menor, da família do botão-de-ouro, cujas raízes e caules eram comidos por muitos povos tradicionais, alguns dos quais acreditavam que a planta tinha propriedades medicinais — um de seus outros nomes é ficária. A própria cavidade grande parecia ter sido um provável piso de cabana, apesar da frustrante ausência de buracos de estaca; mas fora basicamente usada como aterro de lixo. As cavidades menores que a circundavam tinham sido outrora fornos para assar avelãs — sendo as nozes isoladas abaixo do terreno e um fogo aceso em cima. As cascas e as nozes acidentalmente queimadas eram jogadas no aterro, junto com outros detritos vegetais e de fabricação de instrumentos.
Calculamos que as cascas de mais de 100 mil nozes tinham sido jogadas no monturo de lixo, na certa em várias visitas anuais por volta de 6.700 a.C. Embora se conheçam punhados de cascas de avelãs carbonizadas de sítios em toda a Europa do Mesolítico, jamais tinham sido encontradas em tão grandes quantidades quanto em Staosnaig. A coleta e a assadura de avelãs tinham sido feitas em escala quase industrial, tendo-se dizimado o bosque de aveleiras pelas nozes e lenha. Os indícios de pólen de um lago perto de Staosnaig indicam um quase completo colapso florestal logo após a realização das intensas colheitas. Portanto, esses caçadores-coletores certamente não viviam "em equilíbrio" com a natureza. A destruição da mata em Colonsay que iniciaram foi completada pela chegada de seus primeiros agricultores.
Não se cultivam mais aveleiras hoje em Colonsay, mas o passado é lembrado em seu nome. "Coll" é a palavra gaélica para avelã, por isso as pessoas do Mesolítico deviam ter visto Colonsay como "ilha da aveleira".
O peripatético estilo de vida dos caçadores-coletores no sul das Hébridas, deslocando-se entre colônias em Islay, Jura e Colonsay, continuou por mais de mil anos. Nossa compreensão de como chegou ao fim está intimamente relacionada com sítios na quarta ilha — Oronsay. Embora de tamanho minúsculo, Oronsay contém não menos que cinco sítios de conchas mesolíticos. Não se conhece outro nas demais ilhas. Embora originalmente explorada no fim do século XIX, Paul Mellars, da Universidade de Cambridge, realizou extensíssimas escavações na década de 1970. Descobriu que os monturos haviam se acumulado entre 5.300 e 4.300 a.C., pouco antes da chegada dos primeiros agricultores.
As pessoas do Mesolítico tinham chegado a Oronsay e coletado diversos crustáceos para usar como comida ou isca; tinham fisgado saithe — um tipo de bacalhau — em suas canoas e pegado em armadilhas uma grande variedade de aves marinhas; focas eram caçadas e teriam sido presa fácil se a ilha foi um viveiro no Mesolítico como é hoje. Conchas de mariscos se tinham tornado colares e, à luz das sovelas de osso encontradas por Mellars — instrumentos úteis para furar couro — faziam-se roupas. Misturados entre os ossos de animais, conchas, lareiras e artefatos quebrados dos monturos, encontraram-se fragmentos de esqueletos humanos, confirmando que pessoas também tinham morrido em Oronsay. Se eram restos de corpos enterrados em cerimônias ou apenas outro tipo de detrito jogado fora, continua não esclarecido.
Alguns dos menores achados foram os mais importantes, como os "otolitos", ou ossos do ouvido do saithe. O tamanho de cada otolito era reflexo direto do tamanho do peixe do qual vinha; isso por sua vez indicava a época do ano em que fora fisgado. A partir desse dado, Mellars revelou que diferentes monturos na ilha tinham sido ocupados em épocas diferentes e em todas as estações do ano. Também sugeriu que pessoas tinham vivido na ilha o ano todo — caçadores-coletores sedentários.
Mellars publicou os resultados de suas escavações em 1987. Nessa época, eu era estudante em Cambridge e altamente cético em relação às suas afirmações. Estava certo de que a Oronsay mesolítica teria pouco a oferecer a caçadores-coletores, em comparação com a riqueza de recursos nas ilhas Hébridas maiores, e não mais que visitas periódicas e muito curtas haviam sido feitas ali. Uma ou duas visitas Oronsay todo ano ao longo de um milênio poderiam facilmente ter criado os montes de conchas, sendo estes muito menores que os encontrados na Dinamarca, como os de Ertebolle. E assim, quando comecei a trabalhar em Islay e Colonsay, confiava em que ia encontrar colônias contemporâneas dos monturos de Oronsay e provar que Mellars estava errado.
Contudo, à medida que se acumulavam as datas de radiocarbono das minhas escavações, nenhuma delas se classificava no período de mil anos dos monturos de Oronsay. Nem qualquer data dos sítios mesolíticos em Jura. Em 1995, eu tinha mais de trinta datas, metade delas de antes de 5.300 a.C. e metade de após 4.300 a.C. A lacuna no meio estava completamente vazia, e essa era a época exata em que haviam se acumulado os monturos. Logo tive de admitir que Mellars provavelmente estivera certo o tempo todo. Parece que após pessoas terem passado quase dois milênios em Islay, Colonsay e Jura, essas ilhas foram abandonadas pela pequena, empobrecida e ventosa Oronsay. Mesmo que se tivessem feito visitas às ilhas maiores, teriam sido tão breves e inconsistentes que não deixaram traço arqueológico algum. Em 1998, Mellars publicou outra Confirmação da ocupação em Oronsay: a composição química dos ossos humanos indicava uma dieta inteiramente marinha, de peixes, focas, caranguejos, aves aquáticas e crustáceos.
O fato de caçadores-coletores trocarem Islay por Oronsay desafia o sentido ecológico. Por que fariam isso? Quando à procura de uma solução, vi-me agarrando ao último recurso dos arqueólogos: Oronsay deve ter sido preferida por algum motivo ideológico que continua sendo inteiramente desconhecido por nós.
Embora não tenhamos pinturas nem gravuras de pedra, é provável que os habitantes mesolíticos da Escócia tivessem tido uma mitologia tão complexa quanto qualquer sociedade humana. Ao subir os picos Paps de Jura e a colina Beinn Tart a'Mhill, visitar Loch Gorm e o estuário de Gruinart, sentar-me na destruída floresta de carvalhos em Colonsay e andar em suas praias, sempre achei que aqueles eram tanto lugares mal-assombrados de espíritos, espectros e deuses mesolíticos quanto de suas pessoas. A paisagem era, tenho certeza, impregnada de mitos de origem e relatos da criação; talvez tivessem sido a inspiração para o que parece ser uma decisão irracional sobre onde viver e o que comer.
Após 4.300 a.C., as pessoas voltavam a viver nas ilhas maiores. O acampamento de caça de Bolsay achava-se mais uma vez em atividade, com microlitos sendo feitos e jogados fora. Mas os novos ocupantes de Bolsay também vinham jogando fora vasos de cerâmica quebrados e machados de pedra polida. E como para substituir os de conchas de Oronsay, novos tipos de montes haviam aparecido em Islay: túmulos megalíticos.
Em 4.500 a.C., agricultores imigrantes tinham chegado ao leste da Escócia. Construíram casas de pedra que prefiguram a famosa aldeia de Skara Brae em Orkney e prédios de madeira em outros lugares que pareciam as casas longas da cultura LBK continental. Criavam gado bovino e ovino, cultivavam campos de trigo e cevada. Quaisquer caçadores-coletores do Mesolítico que ainda tivesse desapareceram sem vestígio,
No oeste da Escócia, a nova agricultura e os antigos estilos de vida do caçador-coletor parecem ter-se fundido, como tinham feito no Mediterrâneo. Enquanto se construíam túmulos do Neolítico em Islay, sítios do Mesolítico como Bolsay continuavam sendo usados de forma muito semelhante à de antes. Apenas traços esparsos de cultivo de qualquer colheita foram encontrados, portanto deve ter sido em escala muito pequena; não há casas nem aldeias do Neolítico que se comparem com as do leste. Os punhados de pedra lascada são esparsos, raras vezes tendo mais que poucas centenas de peças — um drástico contraste com os vários milhares de artefatos encontrados em quase todos os sítios do Mesolítico.
As pessoas do Neolítico no sul das Hébridas e em outras partes no oeste da Escócia eram criadoras nômades de gado bovino e ovino que continuaram caçando animais selvagens c coletando alimentos vegetais. Mas como para distinguir-se dos caçadores-coletores do Mesolítico, recusavam-se a comer frutos do mar. Pelo menos essa é a indicação da química dos poucos ossos neolíticos recuperados de túmulos. Os recursos de crustáceos, mamíferos e peixes marinhos que haviam sustentado as pessoas em Oronsay foram simplesmente ignorados. Quanto à decisão de caçadores-coletores mesolíticos de viver em Oronsay, parece desafiar o sentido econômico.
Que aconteceu com as pessoas mesolíticas de Oronsay? Ter-se-iam suas populações simplesmente extinguido? Ou se misturado com recém-chegados às Hébridas pela troca de produtos, oferta de emprego e casamento? As duas coisas são possibilidades, mas eu desconfio de uma terceira. Meu palpite é que as próprias pessoas em Oronsay se tornaram agricultores; adquiriram novas idéias, novos instrumentos e novos animais das pessoas no leste e retornaram para as ilhas maiores. Assim como tinham feito seus ancestrais, reuniam-se junto à fonte em Bolsay e lascavam pedras para fazer microlitos; mas desta vez tinha gado pastando perto.
As Américas
23
Em Busca dos Primeiros Americanos
A descoberta de colonização da era do gelo,
1927-1994 d.C.
Os homens observados por John Lubbock estão parados pensativos ao lado dos ossos de bisão. Andam em volta da vala, curvam-se e raspam um pouco do solo, trocam algumas palavras, assentem com a cabeça e dão sorrisos de entendimento uns para os outros. Alguns usam macacões de brim azul, outros camisa branca e gravata-borboleta preta. Os olhos continuam retornando à peça central: uma ponta-de-lança, firmemente enfiada entre duas costelas. Um dos homens parece ter-se decidido; encaminha-se confiante até um outro defronte, aperta-lhe a mão, dá-lhe um tapinha nas costas. Um terceiro suga profundamente seu cachimbo e coca o queixo; também ele se convencerá, pois o caso sem dúvida foi comprovado. Quarenta anos de acalorado debate foram resolvidos: houve gente nas Américas antes do fim da era glacial.
John Lubbock encontra-se em Folsom, Novo México, a 30 de setembro de 1927. A disposição dos arqueólogos parece refletir a disposição do país em geral — a nação comemora o vôo solo de Charles Lindbergh até Paris e acha-se em plena prosperidade econômica. Mas idéias de aviões e automóveis não passam pela mente de Lubbock enquanto também anda em volta das valas. Estas são limitadas por uma pequena enseada que corre da Mesa Johnson — a meseta que coroa a paisagem um quilômetro a leste.
Jesse Figgins, diretor do Museu de Denver, é o principal recebedor de elogios. Intensamente aliviado, continua meio aturdido com sua impressionante mudança de sorte. Apenas um ano antes, não tinha mais que o museu local em mente quando começou a recolher ossos de bisão da era do gelo para uma nova exposição. Agora reescrevia a história americana.
Os ossos de bisão em Folsom foram originalmente expostos por chuvas torrenciais em 1908, nos antigos sedimentos do que parece hoje o impropriamente batizado Vale do Cavalo Selvagem. Logo após começar a trabalhar, Figgins encontrou duas pontas-de-lança. Soube imediatamente de sua importância em potencial e levou-as a Ales Hrdlicka, o mais antigo antropólogo do Instituto Smithsonian em Washington. Hrdlicka era um imigrante nascido na Tchecoslováquia, tão temível na reputação quanto na aparência, com os cabelos puxados para trás, testa enrugada, espessas sobrancelhas pretas e colarinho branco engomado. Deu a Figgins um conselho crucial: se se encontrassem mais pontas-de-lança, elas deviam ser deixadas in situ, exatamente onde estavam. Figgins devia então notificar as instituições acadêmicas por telegrama, para que mandassem representantes inspecionar as descobertas.
Por isso, nesse dia de fim de verão em 1927 um grupo de acadêmicos reuniu-se em Folsom — tendo Lubbock como espectador privilegiado. O grupo incluía o fumador de cachimbo A. Y Kidder, um dos mais respeitados arqueólogos da época, Frank Roberts, estudante de destacado futuro, e Barnum Brown, paleoantropólogo do Museu de História Natural Americana. Lubbock observa Brown apertar uma ponta-de-lança contra a camisa branca engomada e declarar que "a resposta à antigüidade do homem no Novo Mundo está em minha mão".
Barnum Brown estava errado; mas pode-se perdoar sua precipitação. Esse sentimento com toda probabilidade foi partilhado, embora não expresso, pela maioria dos arqueólogos americanos durante os últimos 150 anos. Apesar das descobertas de Folsom provarem que houve pessoas nas Américas antes do fim da era glacial, a data de sua chegada permanece desconhecida — 12.000, 20.000, 300.000, 500.000 a.C., ou até antes? Ninguém pode dar uma explicação definitiva de como e quando chegaram as primeiras pessoas às Américas. Tenho pouca duvida, porém, de que isso ocorreu após a grande glaciação de 20.000 a.C.; foi uma das conseqüências-chave do aquecimento global para a história humana.
Em vez dessa explicação definitiva, John Lubbock precisa visitar os mais intrigantes sítios arqueológicos do mundo da era do gelo, do norte do Alasca até o sul do Chile. Enquanto ele viaja por entre esses sítios, há uma história admirável para contar, a da pré-história nas Américas — as paixões, criatividade, trabalho árduo e às vezes pura sorte dos que tentavam estabelecer-se exatamente quando se davam os primeiros passos na Idade da Pedra no último dos continentes habitáveis a ser colonizado. Robson Bonnichsen, Diretor do Centro de Estudos dos Primeiros Americanos, no Oregon, descreveu esses passos como "o último fato pioneiro... uma admirável gente nova num admirável mundo novo". De continente vazio a superpotência global — o Sonho Americano último.
David Meltzer, da Universidade Metodista do Sul, no Texas, um dos principais estudiosos da pré-história americana e historiador do pensamento arqueológico, mostrou que os debates sobre os Primeiros Americanos remontam aos primórdios da própria América. O primeiro contato entre exploradores europeus e americanos nativos ocorreu no fim do século XV Os recém-chegados faziam as perguntas óbvias: Quem era aquele povo indígena? De onde viera?
A resposta comum por mais de trezentos anos foi que eram uma das Dez Tribos Perdidas de Israel. Em 1590, Frei Joseph de Acosta especulou que essa tribo errante fizera uma migração por terra e chegara ao norte do continente, num ponto de encontro entre os Mundos Novo e Antigo. Meltzer documentou meticulosamente como se desenvolveram essas especulações até as descobertas em Folsom. Alguns dos estudiosos do século XIX — como Charles Abbott, físico e entusiástico arqueólogo amador de Trenton, Nova Jersey— foram inflexíveis ao afirmar que uma raça de pessoas da Idade da Pedra, usando instrumentos primitivos, habitara outrora as Américas. Outros eram ardentemente contra essas opiniões, sobretudo William Henry Holmes, do Departamento de Etnologia Americana. Membro do establishment arqueológico, era em parte motivado pela audácia de um amador como Abbott fazer afirmações sobre o passado humano.
Um estímulo para esse debate foi a demonstração de antigüidade humana na Europa, pela descoberta de artefatos humanos em associação com os ossos de animais extintos. Tempos pré-históricos explicara a importância desses achados, estabelecendo que pessoas tinham vivido na Europa durante a era glacial — embora ninguém soubesse bem a data em que isso ocorrera. O John Lubbock vitoriano também dedicara um capítulo à "Arqueologia Norte-Americana", ficando avidamente interessado na arqueologia de seus monumentos, túmulos e artefatos. Cético quanto a duas afirmações da associação de artefatos humanos com animais extintos na América do Norte, concluiu que não havia a menor necessidade de acreditar que pessoas tinham estado nesse continente há mais de três mil anos. Mas teve o cuidado de não rejeitar a possibilidade de povoamento mais antigo; apenas observou que a exigida evidência não existia atualmente.
O tom calculado de Tempos pré-históricos era típico de um cavalheiro inglês escrevendo de longe — o John Lubbock vitoriano jamais cruzara o Atlântico. Os americanos na vanguarda do debate, como Abbott e Holmes, usavam uma linguagem mais severa e defendiam posições dogmáticas. Isso levou David Meltzer a batizar as poucas décadas antes da descoberta de Folsom como a "Grande Guerra Paleolítica" — o nível de aspereza, acusações de incompetência e insultos diretos entre os protagonistas fazem nossos debates atuais sobre a origem humana parecerem a mais jovial das atividades.
Não surpreende pois que Jesse Figgins se sentisse ansioso quando vários daqueles protagonistas se reuniram para inspecionar suas escavações a 30 de setembro de 1927. Sua descoberta de pontas-de-lança em meio a ossos de bisão fora bastante inesperada mesmo para os ardentes defensores da existência de americanos na era glacial. Já vinham prevendo a descoberta de instrumentos de corte toscos e restos humanos com características "primitivas" semelhantes aos dos neandertais da Europa. Mas as pontas-de-lança de hábil leitura encontradas no sítio de Folsom testemunhavam caça sofisticada.
As pontas-de-lança tinham cerca de 6 centímetros de comprimento, feitas lascando-se as duas faces (técnica conhecida como trabalho bifacial), e uma longa ranhura — flauta — estendendo-se desde a base até a ponta. Passaram a ser chamadas de pontas Folsom, e introduziu-se o termo paleoindígena. Hoje sabemos que as pontas Folsom tinham sido fabricadas em 11.000 e 9.000 a.C. Uma década depois da escavação de Folsom, descobriram-se muitos sítios semelhantes. Agora que as pessoas sabiam o que procurar, só precisavam explorar antigos canais fluviais e sedimentos lacustres em busca de ossos de animais extintos, e depois buscar entre eles a presença de artefatos humanos.
Em 1933, encontrou-se um sítio perto de Dent no Colorado. Mamutes, e não bisões, tinham sido a presa, e as pontas eram maiores que as Folsom. As pontas logo passaram a caracterizar uma nova cultura: "Clovis". Este nome veio de uma cidadezinha no Novo México perto do sítio de Blackwater Draw, onde também se encontraram mais pontas e restos de mamutes na década de 1930. As pontas Clovis eram maiores, tinham uma flauta que chegava apenas ao meio da ponta e bases esmerilhadas por uma pedra bruta para facilitar a fixação do cabo. A associação com mamutes — que se julgava terem-se extinguido antes do bisão de Folsom — sugeria que pré-datavam qualquer descoberta. As escavações em Blackwater Draw confirmaram isso, fornecendo depósitos nos quais as pontas Folsom e ossos de bisão ficam diretamente acima dos que contêm pontas Clovis e ossos de mamutes.
Durante a década de 1950, vários sítios Clovis foram escavados no vale do rio San Pedro, no sul do Arizona. Em 1953, encontraram-se não menos que oito pontas Clovis, misturadas com o quase completo esqueleto de um único mamute em Naco. Como não havia outros restos arqueológicos, logo se batizou esse como "o único que escapou" — um mamute que fora atacado, ferido, mas depois fugira e morrera não recuperado. Dois anos depois, 12 pontas-de-lança Foram encontradas com os restos de 8 mamutes na Fazenda Lehner, apenas alguns quilômetros de Naco.
Na década de 1970, dispunham-se de numerosas datas de radiocarbono para as pontas Clovis, indicando que nenhuma era mais antiga que 11.500 a.C. Sem vestígios de qualquer colônia anterior, a cultura Clovis parecia ser a dos primeiros americanos. Eram os pioneiros que se originaram no nordeste da Ásia e fizeram a heróica jornada proposta por Frei Joseph de Acosta: pela hoje inundada massa de terra da Beríngia, que juntou a Sibéria e o Alasca quando o nível do mar atingiu seu ponto mais baixo, e depois para o sul, assim que as camadas de gelo que cobriam todo o Canadá começaram a derreter-se. Eram duas: a Laurentida para o leste e a Cordilheirana para o oeste. Quando começaram a derreter-se, criou-se um "corredor livre de gelo" entre elas, pelo qual os caçadores Clovis supostamente passaram para as paisagens da América do Norte.
A descoberta de sítios como Naco e a Fazenda Lehner logo levou as pessoas Clovis serem caracterizadas como muito mais que simples pioneiros. Haviam evidentemente atacado mamutes com não mais que lanças com pontas de pedra, e muitos acreditam que os tenham levado à extinção — uma idéia que passou a ser conhecida como a "hipótese da matança excessiva". O mais ardente defensor dos "Primeiros Clovis" e da "matança excessiva" foi — e ainda é — Paul Martin, da Universidade do Estado do Arizona. Ele afirma que os caçadores Clovis chegaram ao extremo sul do corredor livre de gelo em 11.500 a.C. Dali se espalharam pelas matas até as planícies e as florestas da América do Norte e do Sul em questão de algumas centenas de anos, levando não apenas mamutes, mas vários outros tipos de espécies animais gigantescas à extinção.
É fácil fazer a afirmação pós-moderna de que Paul Martin estava apenas inscrevendo o ideal do herói americano no passado Clovis, mas isso seria muito injusto. Na década de 1970, o cenário dos "Primeiros Clovis" era a interpretação mais razoável dos dados existentes. Já fora, porém, contestado por arqueólogos que afirmavam ter descoberto sítios pré-Clovis no continente americano. Louis Leakey, o reverenciado estudioso de origens humanas na África, declarou ter descoberto artefatos humanos "primitivos" nas montanhas Calico, no deserto Mojave Californiano. Estava errado — não passavam de pedras de rio quebradas. Mas em fins da década de 1970 já haviam surgido afirmações muito mais consistentes de colônias pré-Clovis.
É 1978 d.C., e John Lubbock se vê no vale do Yukon, logo na entrada do Círculo Ártico. Seu destino é o extremo noroeste, a terra que permaneceu livre de gelo durante todo o LGM, a Beríngia oriental que hoje chamamos Alasca. Se pessoas caçavam mamute na Fazenda Lehner, no sul do Arizona em 11.500 a.C., certamente deve ser ali que se descobrirão seus ancestrais — os que primeiro atravessaram desde a África a ponte de terra hoje inundada.
É o solstício de verão, o céu continua claro durante todo o dia e a noite. Os altos picos da cordilheira Brooks ao norte, a cordilheira do Alasca ao sul e as MacKenzies a leste protegem essa paisagem, proporcionando-lhe um moderado calor estival. O Alasca é imenso — quase cinco vezes a área das ilhas Britânicas, mas com uma população inferior a um doze avos da de Londres.
Lubbock viajou por entre colinas ondulantes e montanhas baixas, bacias fluviais e infindáveis quilômetros de mato com tufos de erióforo. Viu muitos bandos de gansos acima, lobos e ursos. Mas as únicas criaturas em sua mente são os demoníacos mosquitos e mutucas. Precisa tolerá-los para poder chegar às Cavernas Bluefish, no noroeste do Yukon, onde, nesse ano de 1978, se vai fazer outra afirmação de quebra da Barreira Clovis.
Lubbock encontra as cavernas após percorrer a margem do rio Bluefish até um ponto cerca de 50 quilômetros a sudoeste da aldeia Old Crow. Os lados do vale coberto de espruces elevam-se num penhasco calcário denteado. Ele rasteja entre as árvores e encontra a escavação em andamento. Há duas pequenas cavidades na base dos penhascos; a boca de uma acha-se cercada por baldes, pás de ferro e colheres de jardineiro.
Trata-se do trabalho de Jacques Cinq-Mars e seus colegas da Pesquisa Arqueológica do Canadá. Cinq-Mars viu pela primeira vez as cavernas quando fazia um reconhecimento de helicóptero do rio Bluefish em 1975. Hoje ele está cavando numa das valas, vestindo grossas roupas como proteção contra o vento gelado e a praga de mosquitos. Do lado de fora, há uma pilha crescente de sedimento escavado que consiste de loesses — sedimentos transportados pelo vento — e pedras que outrora desabaram do teto da pequena caverna.
Mesas, cadeiras, caixas, peneiras, livros de anotações e outras parafernálias de escavação são postos no abrigo das árvores. Alguém se senta e escreve rótulos para os grandes ossos escavados, os códigos cuidadosamente copiados nos livros de anotações. Os ossos são guardados seguros dentro de engradados como preparação para a longa viagem até o laboratório. Há várias caixas de ossos muito fragmentados, rotulados para indicar a camada e área em que foram encontrados. Os ossos vêm de uma imensa variedade de animais: mamute, bisão, cavalo, carneiro, caribu, urso e puma, junto com diversos animais pequenos, pássaros e peixes. Vários espécimes estão cobertos de marcas de dente e roedura — detritos deixados por lobos e ursos que usaram a caverna como abrigo nos tempos da era do gelo.
Também há artefatos de pedra, pequenas lascas e os restos dos nódulos dos quais foram separados. Tipos semelhantes de instrumentos já foram estudados em outros lugares do Alasca e designados como cultura Denali, e revelaram não ser mais antigos que 11.000 a.C.
Um terceiro tipo de achado está sendo inspecionado, separado e rotulado: ossos animais que Cinq-Mars julga terem sido raspados e aparados por mãos humanas. Quando se obtiverem as datas de radiocarbono, esses "ossos trabalhados" — encontrados logo em seguida aos artefatos de pedra — serão datados de antes de 20.000 a.C.
Na época da visita de Lubbock, essas datas são desconhecidas de Cinq-Mars. Mas ele trabalha com a convicção de que suas descobertas revelam uma colônia pré-Clovis nas Américas. Lubbock espreme-se para entrar na caverna e passa pelas condições de trabalho apertadas, escuras e entulhadas. Em vez de serem horizontais e empilhadas com cuidado, as camadas de sedimento mergulham e sobem, começam e param de maneira errática — quase impossível de decifrar. Seus pensamentos estão nos lobos que fizeram covis dentro da caverna e desarrumaram as camadas, e nos roedores que se entocavam nos sedimentos macios. Finas lascas de pedra podem facilmente ter-se deslocado com eles e se misturado com os ossos trazidos por lobos para a caverna, vários milhares de anos antes de as pessoas chegarem para lascar os nódulos de pedra.
Desde que os "ossos trabalhados" foram encontrados, arqueólogos têm debatido se as pontas lisas foram realmente feitas por mãos humanas. Talvez possam ter surgido das constantes lambidas de animais esfomeados, ou mesmo do vento ou da água, antes de fuçados de uma carcaça em putrefação e levados por desespero para a caverna. Se assim for, o fuçador poderia ter sido homem, mulher ou animal. Quase trinta anos após realizar suas escavações, Cinq-Mars continua convencido de que os ossos de bordas lisas são verdadeiros artefatos humanos e demonstram que havia pessoas no Alasca antes do LGM. Eu não vi os ossos, mas por suas descrições continuo cético — a natureza parece ser o mais provável operário.
As Cavernas Bluefish são o único sítio em todo o Alasca que pode reivindicar alguma colonização pré-11.500 a.C., e a reivindicação é suficientemente fraca para permitir uma confiante rejeição. Se tais sítios estão ausentes no Alasca — ou Beríngia oriental, como devemos chamá-lo — parece limitada a probabilidade de que existam mais ao sul. Sua ausência no Alasca não pode ser explicada pela falta de trabalho de campo, como se poderia esperar numa paisagem tão desafiante quanto essa. Intensa pesquisa arqueológica encontrou mais de vinte sítios — lugares de acampamento do passado — com data da era do gelo. Vários deles encontram-se profundamente enterrados com conjuntos de artefatos, lareiras e ossos de animal esquartejado intocados. Mas nenhum data de antes de 11.500 a.C.
Na verdade, a situação para os defensores do pré-Clovis é muito pior que a ausência de indícios do Alasca; não há sítios conhecidos em toda a Sibéria — que formava a parte ocidental da Beríngia — com uma idade maior que 15.000 a.C. Comunidades de caçadores-coletores tinham-se certamente estabelecido na Sibéria nessa data, e é razoável imaginar que acabaram por espalhar-se para o Alasca, transpondo o que para eles era uma barreira intercontinental inteiramente invisível e desconhecida. As pessoas que chegavam nessa data, porém, não poderiam ter viajado para o sul, devido às maciças camadas de gelo que isolavam o Alasca da rica tundra e das densas florestas da América do Norte. É improvável que o corredor livre de gelo tenha sido percorrido até 12.700 a.C.; se uma lacuna entre as camadas de gelo tivesse existido antes dessa data, teria sido inóspita para viajar, faltando-lhe quaisquer recursos de lenha e comida.
Mas se assim é, como pode haver artefatos de pedra datados de 16.000 a.C. na Gruta do Prado na Pensilvânia? Este é o mais próximo sítio de conteúdo que temos de considerar, ao sul da camada de gelo de Laurentide.
Em 1973, James Adovasio, da Universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, começou a escavar uma pequena caverna no vale do Cross Creek, tributário do rio Ohio. Adovasio ia passar os trinta anos seguintes estudando e debatendo a importância da Gruta Meadowcrof para o povoamento das Américas — e continua firme. Suas escavações expuseram 5 metros de sedimentos distribuídos em camadas bem definidas, das quais se obtiveram várias datas de radiocarbono. As camadas mais inferiores datavam de cerca de 30.000 a.C. e não têm sinal algum de presença humana. Acima delas, foi datada de cerca de 21.000 a.C. uma camada dentro da qual se descobriu um nó de fibras trançadas, possivelmente um fragmento de cesto. As camadas seguintes foram datadas de 16.000 a.C. e continham o que são incontestavelmente instrumentos de pedra feitos por mãos humanas.
Encontraram-se muitos ossos de animais e pássaros na caverna; alguns teriam sido de corujas assadas, carnívoros de covil e roedores entocados, outros são sem a menor dúvida restos de presa humana. Pelo visto, Meadowcroft parece demonstrar assentamento humano nas Américas em 16.000 a.C. - pelo menos 5 mil anos antes da data das primeiras pontas Clovis. Mas antes de podermos abandonar a teoria do "Primeiro Clovis", devemos resolver dois problemas.
A geologia em torno de Meadowcroft é crivada de depósitos de carvão. Se esse pó voou para a caverna ou impregnou os sedimentos pela água do solo, as amostras de carvão usadas para datação talvez se tenham contaminado. Podiam Facilmente parecer vários anos mais velhas do que de fato são. Adovasio rejeita essas afirmações, explicando que nenhum dos depósitos ricos em carvão na vizinhança é solúvel em água, e que a quantidade de contaminação exigida para alterar uma data de, digamos, 10.000 a.C. para 16.000 a.C. seria tão grande que nenhum laboratório de datação poderia cometer tamanho erro.
Os ossos animais também suscitam uma questão. Em 16.000 a.C., a caverna ficaria a não mais de 80 quilômetros da borda da camada de gelo Laurentide, e portanto, imagina-se, cercada de tundra estéril. Mas os ossos animais de Meadowcroft são de gamo, tâmia e esquilo; o tipo de animais que vivem em paisagens densamente arborizadas. Se as datas de radiocarbono estiverem corretas, não deveriam vir de animais como mamute, lebre-do-ártico e lêmingue?
Adovasio aceita que os ossos datando de 16.000 a.C. vêm de animais de vida florestal, e que carvalho, hicória e nogueira se haviam desenvolvido em volta da caverna quando foi ocupada pela primeira vez. Mas isso, afirma, deveu-se à sua localização sobretudo abrigada — o vale do Cross Creek hoje tem até mais cinqüenta dias livres de gelo que a área em volta. Por isso, mesmo no auge da era glacial, árvores e animais florestais poderiam ter sobrevivido na vizinhança da gruta, proporcionando oportunidades de caça e coleta aos primeiros americanos.
Em 1993, Adovasio conseguiu declarar que Meadowcroft se tornara, "de todos os supostos sítios pré-Clovis conhecidos nas Américas, o mais intensamente estudado, sobre o qual se escreveu em maior extensão, e o mais completamente datado". Repetidos testes das amostras de carvão, e o estudo microscópico dos sedimentos, não revelaram traço algum de contaminação das amostras pelos níveis mais antigos.
Mas permanecem sérias dúvidas. Se houve pessoas em Meadowcroft em 16.000 a.C., como chegaram lá?
Uma resposta a esta pergunta fora de fato proposta na década de 1970 por Knut Fladmark: os primeiros americanos, vindos da Sibéria, desviaram-se das camadas de gelo norte-americanas viajando em volta da costa. Essa idéia tornou-se popular com dois arqueólogos da Universidade de Alberta, Ruth Gruhn e Alan Bryan. Em vez de chegarem pelo corredor livre de gelo, eles afirmam que os primeiros americanos simplesmente caminharam ou navegaram em volta da costa oeste, ou mesmo atravessaram o mar de Bering em barcos, de Kamchatka até a Califórnia. Em conseqüência, os sítios-chave indicando como as pessoas alcançaram Meadowcroft em 16.000 a.C. foram submersos pela elevação do nível do mar quando a era de gelo chegou ao fim.
Como é provável que a extensão da glaciação tivesse tornado impossíveis quaisquer rotas costeiras ou marítimas entre 30 mil e 16 mil anos atrás, Bryan e Gruhn afirmam que a colonização mais provavelmente ocorreu por volta de 50 mil anos atrás. Para apoiar a afirmação, salientam a maior diversidade de línguas americanas nativas encontradas na costa noroeste que em outras partes, o que julgam refletir a longevidade do assentamento nessa região. Quando se fez uma das primeiras classificações de línguas americanas em 1891, não menos que 22 das 58 famílias de línguas foram encontradas na Califórnia.
Mas se os primeiros americanos chegaram por uma rota costeira 50 mil anos atrás, e mesmo que suas primeiras colônias costeiras fossem inundadas pela elevação do nível do mar, por que o sinal mais antigo de sua presença é apenas de 16.000 a.C., na Gruta de Meadowcrolt? Poderiam os primeiros americanos ter passado mais de 30 mil anos sem viajar da costa para o interior? Até para Bryan e Gruhn isso parece improvável. Portanto, eles têm uma segunda proposta para a ausência — ou, se se é fã de Meadowcroft, a extrema raridade — de sítios pré-Clovis: os primeiros americanos viviam em grupos pequenos e extremamente móveis, dispersos por todo o continente em baixas densidades. Os sítios arqueológicos que deixaram foram bastante efêmeros — afirmam Bryan e Gruhn — e mesmo que esses sítios hajam sobrevivido aos rigores do tempo, a chance de sua descoberta e datação precisa é mínima. O repentino surgimento de sítios arqueológicos em todo o continente por volta de 11.500 a.C. reflete, segundo Bryan e Gruhn, a passagem de um nível populacional, após o qual se criou um número suficiente de grandes assentamentos para deixar um registro arqueológico reconhecível.
Esses argumentos podem parecer convincentes. Mas sem outros grandes assentamentos para apoiar as afirmações a partir de Meadowcroft, e em termos ideais remontar a época dos primeiros americanos a antes de 20.000 a.C., não são persuasivos. E no entanto, na mesma época em que Adovasio concluía sua principal obra em Meadowcroft, fazia-se uma nova afirmação em favor exatamente disso: um sítio que datava os primeiros americanos de no mínimo 40 mil anos atrás. Chamado Pedra Furada, o sítio encontra-se mais distante das camadas de gelo no norte não apenas em Meadowcroft, mas também nos sítios Clovis no sul do Arizona.
É 1984, e John Lubbock viajou até uma remota região do nordeste do Brasil, o estado do Piauí, com sua característica caatinga — mata seca e espinhosa — e penhascos de arenito. Estes têm várias cavernas pequenas, com pinturas rupestres dos animais locais: veados, tatus e capivaras. Algumas pinturas são cenas de caça com figuras de traços: outras retratam sexo e violência. Lubbock acha-a uma terra profundamente desagradável — dominada pela pobreza, seca, quente e transbordando de insetos que picam e perigos que rastejam.
A arqueóloga que Lubbock vai visitar é Niède Guidon, da École des Hautes Études em Sciences Sociales, em Paris. Ela trabalhou no nordeste brasileiro por mais de 20 anos, fazendo sobretudo um levantamento das grutas e documentando a arte. Numa tentativa de descobrir quando foram feitas as pinturas, começou a escavar num dos sítios maiores e mais brilhantemente decorados, conhecido como Pedra Furada. Isso foi em 1978, e agora, seis anos depois, suas escavações chegaram a proporções bastante significativas. E, como Niède afirma ter indícios de que pessoas viveram em Pedra Furada há mais de 40 mil anos, seu interesse se transferiu das pinturas — que datam de cerca de 10.000 a.C. — para a antigüidade humana.
Lubbock primeiro vê o sítio de longe, ou melhor, o penhasco elevando-se acima dos espinheiros e cactos. Quando ele chega, a gruta é de tamanho intimidante; recosta-se e sente-se tonto sob a parede muito alta de pedra maciça inclinada, erguendo-se a mais de 100 metros, até a escarpa acima. Esta abriga uma área de cerca de 70 metros de largura e 18 de profundidade, dentro da qual se trabalha. Lá está a própria Niède — uma resistente senhora que sobreviveu ao ataque de duzentos ferrões das notoriamente agressivas "abelhas assassinas" do Brasil — inspecionando um desenho do sítio; continua tão enérgica e empenhada nas escavações quanto no dia em que chegou.
Seu trabalho foi evidentemente numa escala à altura da própria gruta; removeram-se mais de 5 metros de depósitos da base, grande parte dos quais jogada com as árvores além da escavação. Colunas de depósitos do piso, barricadas por paredes de pedra, foram deixadas como uma referência para os próprios arqueólogos e quaisquer visitantes que desejem inspecionar o sítio. Fazem-se desenhos e fotografias para garantir um registro exato da seqüência de camadas das quais vieram os artefatos.
Lubbock tem uma esplêndida visão do trabalho de uma passarela localizada logo acima da altura original do nível do piso e junto à face da pedra com suas várias pinturas vermelho e branco. Enormes pedras que outrora desabaram da saliência projetada para fora marcam a extensão da área abrigada. Nos dois lados, amontoam-se pilhas de pedras pequenas e seixos, que evidentemente desmoronaram por erosão do topo do penhasco. Manchas nas paredes mostram que a água escorreu de cima; em algumas épocas, isso deve ter sido persistente, pois há poças escavadas no leito rochoso embaixo.
Embora a defesa de um assentamento de 40 mil anos de idade tenha sido feita no início da década de 1990, não surgiram registros detalhados sobre o sítio, especificando exatamente onde foram encontrados os artefatos de pedra, seu relacionamento com as peças de carvão datadas, e desenhos de supostas lareiras. Cônscia de seus críticos, Niède convidou-os a visitar o sítio e inspecionar eles próprios os artefatos. Ao contrário da visita feita por ilustres acadêmicos a Folsom em 1927, as escavações em Pedra Furada já haviam sido concluídas na época em que três reconhecidos peritos — David Meltzer, James Adovasio e Tom Dillehay — chegaram em dezembro de 1993. E Lubbock perdeu a visita deles — partiu de Pedra Furada em 1895, rumando para o suposto assentamento pré-Clovis de Monte Verde, do próprio Dillehay, no sul do Chile.
Se tivesse permanecido, Lubbock teria visto Meltzer, Adovasio e Tom Dillehay fazerem atentas inspeções das colunas, examinarem as densas camadas de carvão e desaprovarem quando constataram as colunas entulhadas de pedras naturalmente quebradas, em vez de verdadeiros artefatos; os teria visto coletarem pedras descartadas das pilhas de terra entre as árvores e parecerem ainda mais preocupados ao constatarem que eram pouco diferentes das tidas por Niède como artefatos de pedra. Lubbock também os teria visto inspecionarem as manchas de água nas paredes da caverna, perguntando-se como a água corrente poderia ter influenciado a disposição das pedras e a distribuição dos artefatos no abrigo.
Meltzer e seus colegas chegaram a Pedra Furada com mentes abertas, e partiram não convencidos. Acharam que os artefatos de pedra podiam facilmente ser pedras de quartzito que se haviam quebrado mais pelas forças da natureza que pelos martelos de pedra dos primeiros americanos. Meltzer encontrou a origem das pedras no topo do penhasco, 100 metros acima da caverna; dali, vinham claramente caindo por sobre a borda, e espatifando-se no terreno abaixo.
Os três arqueólogos não encontraram indício algum da contaminação das amostras de carvão, como poderia ser o caso em Meadowcroft. Aceitaram de imediato que várias peças de carvão realmente tinham mais de 40 mil anos, mas tinha o carvão alguma coisa a ver com atividade humana? O matagal seco que circundava Pedra Furada há pelo menos 50 mil anos é suscetível de incêndios florestais naturais criados por raios. Se esses incêndios tivessem irrompido perto da caverna, o carvão de madeira resultante poderia facilmente ter sido soprado ou levado pela água para os sedimentos. Na verdade, as camadas espessas e difusas de carvão na caverna pareceram a Meltzer muito diferentes das lâminas finas, concentradas de carvão, vistas em lareiras autenticadas em outros sítios, e na verdade na própria Pedra Furada de 10 mil anos antes.
Em seu relatório de 1994, David Meltzer e seus colegas concluíram que eram "céticos sobre as afirmações de presença humana em Pedra Furada". Foi uma conclusão ponderada e generosa, oferecida com várias sugestões construtivas a Niède Guidon e sua equipe sobre como mostrar e apoiar suas afirmações — demonstrando como se diferenciam artefatos de pedras quebradas naturalmente. Lamentavelmente, ela reagiu com agressividade ao relatório, afirmando que seus "comentários são inúteis," baseados em "conhecimento incorreto e parcial". Após escrever sobre a "Grande Guerra Paleolítica" do século XIX, David Meltzer tornara-se um protagonista meio involuntário de sua contraparte moderna.
24
O Passado Americano no Presente
Testemunho dentário, lingüístico, genético e esquelético para o povoamento das Américas
Enquanto Lubbock viaja até Monte Verde, no sul do Chile, precisamos reconstituir outros fatos na busca dos primeiros americanos. Em fins da década de 1970, começou uma mudança fundamental no estudo do passado americano: não era mais possível confiar apenas no testemunho arqueológico. Os lingüistas e geneticistas que estudavam americanos nativos vivos também se tornaram pré-historiadores e passaram a perguntar quando chegaram os primeiros americanos, e de onde eles vieram. E o mesmo fizeram os dentistas.
A idéia de uma "pré-história dentária" talvez pareça bizarra, mas seu estudo é muito informativo. Os dentes humanos variam cm forma e tamanho; os incisivos têm uma forma particular de arestas e ranhuras; o número de raízes de cada molar pode variar, como ocorre com o número de cúspides. Esses traços são fortemente determinados por nossos genes e evoluem muito devagar — portanto, duas pessoas com padrões dentários semelhantes têm chance de ser estreitamente relacionadas.
Christy G. Turner II, antropólogo da Universidade do Estado do Arizona, tornou-se um pré-historiador dentário há mais de 20 anos, coletando informação sobre os dentes de americanos nativos, e comparando-os com os dentes de pessoas de todo o Velho Mundo. Em 1994, já medira mais de 15 mil grupos de dentes. Em cada grupo, 29 características diferentes, como o comprimento das raízes e a forma das coroas. A maioria dos dentes pertencera a americanos nativos antes do contato europeu e viera de túmulos pré-históricos. Fato importante, pois todos os genes que chegavam ao depósito de genes americanos resultantes de cruzamento com europeus, ou em uma data posterior com africanos, poderiam haver influenciado os padrões dentários que ele estudou.
A pergunta feita por Turner era simples: em que parte do Velho Mundo encontramos pessoas com padrões dentários mais semelhantes aos de americanos nativos? Embora dependesse de complexos métodos estatísticos, a resposta em si foi direta: no norte da Ásia, e mais em particular no norte da China, na Mongólia e na Sibéria oriental. Essas pessoas partilham um tão grande padrão dentário com americanos nativos que Turner as chamou de "sinodontos", contrastando-os com pessoas de outras partes da Ásia, África e Europa, todos os quais batizados por ele como "sundadontos". Assim, confiou em que o norte da Ásia foi a terra original dos americanos nativos.
Também se apresentaram diferenças na dentição dos próprios sinodontos norte-americanos. Turner identificou três grupos distintos que, sugeriu, se relacionavam com três diferentes ocorrências migratórias, começando por volta de 12.000 a.C. — idéia que realmente deitou raízes quando se acrescentaram indícios de línguas americanas nativas.
Por mais de duas centenas de anos, lingüistas vinham tentando reconstituir a história de contatos entre comunidades humanas e seus padrões de migração. Procuraram semelhanças e diferenças entre línguas, tentando agrupá-las em famílias e depois traçar padrões de descendência — de forma muito semelhante a como os biólogos tentam classificar espécies animais em famílias e buscar relações evolucionárias. Esse trabalho deveria, idealmente, combinar-se com o estudo arqueológico — como vimos Colin Renfrew tentar fazer, relacionando a disseminação das línguas indo-européias com a dos agricultores neolíticos em toda a Europa.
O potencial de uma pré-história lingüística do Novo Mundo é considerável, devido a seu grande número de línguas. Mais de mil anos foram registradas desde a época do contato europeu, e seiscentas delas continuam sendo faladas hoje. Tentativas de classificá-las em famílias c depois reconstituir suas origens começaram há mais de 300 anos. Em 1794, Thomas Jefferson escreveu: "Esforço-me para colecionar todos os vocabulários que posso, tanto de índios americanos quanto os da Ásia, convencido de que, seja tiveram um parentesco comum, este vai aparecer em suas línguas.
Desde a década de 1960, essas tentativas giraram em torno de argumentos apresentados pelo lingüista Joseph Greenberg, da Universidade de Stanford. Em fins da década de 1950, Greenberg desviou a atenção da classificação de línguas africanas, nas quais construíra sua reputação, para as americanas nativas. Em meados da década de 1980, concluiu que podia agrupar estas em três: esquimó-aleúte, consistindo de dez línguas e restrita à região ártica da América do Norte; na-dene, com 38 línguas encontradas sobretudo no extremo noroeste da América, incluindo os grupos americanos nativos, como os tlinguites e os haidas; e, polemicamente, os ameríndios, que incluíam todas as línguas da América do Norte, Central e do Sul.
Greenberg chegou a essa classificação procurando semelhanças nos sons e significados dos vocabulários básicos de cada língua que estudou, como nas palavras que dão nome a partes do corpo. Afirmou que cada uma das famílias de língua derivava de uma migração de povos para as Américas. A primeira foi de um povo que falava "proto-ameríndio" — sendo o prefixo "proto" a forma convencional de referir-se a uma língua que não mais existe, mas foi a origem da qual divergiram línguas existentes. Greenberg observou que esse primeiro evento migratório ocorreu cerca de 11.500 a.C., e é representado arqueológicamente pela cultura Clovis. As origens do povo permanecem não esclarecidas; dizia-se que o "proto-ameríndio" tinha semelhanças com línguas encontradas extensamente dispersas em toda a Europa e a Ásia (descrita pelos lingüistas como o "complexo eurasiático"), e portanto surgira numa época antes que as famílias de língua se tivessem estabelecido.
A chegada seguinte, que ocorreu cerca de 10.000 a.C., foi de um povo que falava proto-na-dene e é representado arqueologicamente por novos tipos de instrumentos de pedra, aos quais os arqueólogos se referem como cultura Denali: a que Cinq-Mars escavou nas Cavernas Bluefish em 1978. Greenberg achava que sua origem fora na Indochina. Depois, após mais ou menos 500 anos, veio a migração final. Essas pessoas falavam proto-esquimó-aleúte, e acreditava se que se tinham originado no norte da Ásia.
A idéia dessa colonização em três eventos foi publicada em fins da década de 1980, e saudada com aplausos por alguns acadêmicos e desespero por outros. O mais importante artigo surgiu no jornal Current Anthropology em 1986, no qual Greenberg colaborou com Turner e um colega dele, Stephen Zegura, que vinha estudando padrões na distribuição de genes específicos entre os americanos nativos.
Greenberg e seus colaboradores apresentaram uma hipótese poderosa. Propunham que os americanos nativos em cada língua também compartilhavam padrões específicos nos genes e na anatomia dentária. Em outras palavras, três linhas de testemunhos independentes convergiam para dar consistência à afirmação de três migrações discretas para as Américas, com a primeira relacionada ao surgimento da cultura Clovis. Encontrar tal convergência de testemunhos a partir de diversas fontes é a aspiração de todos os que querem estabelecer a verdade sobre a colonização americana. Mas muitos acharam que era simplesmente bom demais para ser verdade.
Ives Goddard, do Instituto Smithsonian, e Lyle Campbell, da Universidade da Louisiana, são dois críticos veementes. Afirmam que as supostas correlações anatômico-genético-lingüísticas não existem — um exame mais atento dos dados mostra uma disparidade nas distribuições, fato hoje reconhecido por Greenberg e seus colaboradores.
Os dois críticos se preocuparam em especial, porém, com um problema muito mais fundamental: a classificação das línguas dos americanos nativos de Greenberg estava errada. Os métodos empregados pouco mais fizeram que comparações de palavras e peças de gramática semelhantes; não se dera atenção alguma ao estudo de todas as línguas, e como elas mudam ao longo do tempo — um campo de estudo conhecido como lingüística histórica. As línguas se espalham, mudam e tornam-se extintas de forma inteiramente independente dos genes ou da forma dos dentes; é um absurdo procurar correlações entre eles sem levar em conta a grande quantidade de casamentos endogâmicos, escravidão, migrações internas e guerra que se sabe tiverem ocorrido durante a história americana nativa, quanto mais antes do contato europeu.
Escrevendo em 1994, Goddard e Campbell não sabiam de nenhum especialista individual trabalhando na história americana nativa que julgasse a família ameríndia digna de alguma validade. A incoerência disso foi claramente demonstrada quando revelaram que, seguindo os métodos de Greenberg, o finlandês tinha de ser incluído como membro. Na opinião deles, Greenberg apenas cotejou coincidências lingüísticas e depois interpretou-as erroneamente como derivações pré-históricas.
Esse debate não é o único no estudo lingüístico dos americanos nativos. Em 1990, Johanna Nichols, lingüista da Universidade da Califórnia em Berkeley, afirmou que o grande número de línguas no Novo Mundo — o "fato lingüístico", como o chamou — torna "absolutamente inequívoco" que o Novo Mundo tem sido habitado há dezenas de milênios, pelo menos 35 mil anos — uma data que teria deixado Niède Guidon, que escavava Pedra Furada em 1990, na verdade muito feliz.
Johanna deduziu que o número de línguas em qualquer região aumenta aos poucos, ao longo do tempo, num ritmo muito constante. Optou pelo termo "tronco" para referir-se à língua original da qual surgiram várias famílias de língua existentes. Na Eurásia, por exemplo, o indo-europeu é o tronco do qual surgiram famílias de língua como a germânica, celta e balto-eslavo. Estas poderiam então funcionar como troncos para novas famílias de língua. Os troncos, afirmou Johanna, deram origem a uma média de 1,6 ramo de troncos/famílias a cada 5-8 mil anos. Salientou que as 140 línguas básicas que ela reconhece no ameríndio teriam exigido cerca de 50 mil anos para derivarem da língua original falada pelas primeiras pessoas nas Américas. Johanna modera essa cifra para apenas 35 mil anos atrás, a fim de permitir mais de um evento de colonização, e portanto mais de um tronco original.
Quando Daniel Nettle — lingüista de Oxford — examinou exatamente as mesmas datas que Johanna Nichols, chegou a uma conclusão bastante diferente. Para ele, o grande número de línguas americanas nativas deve ser um sinal de colonização relativamente recente, sem probabilidade de ter ocorrido antes de 11.500 a.C. Nettle afirmou que a proporção para o surgimento de novas línguas apresentada por Johanna é inteiramente infundada; e também questionou toda a premissa de que as línguas até mesmo proliferam dessa maneira. Uma nova língua acaba surgindo, afirmou, apenas em conseqüência de algum acontecimento em particular, freqüentemente o movimento de um grupo de pessoas para uma nova área, sobretudo uma que exige adaptação de seus estilos de vida a um novo grupo de recursos.
Segundo Nettle, a colonização de um novo continente logo levaria a uma proliferação de línguas, quando as comunidades se espalhassem e dividissem em novos "nichos" — áreas com sua particular variedade de recursos. Em cada “nicho” os colonizadores começariam um estilo de vida distinto, como caçadores, pescadores, agricultores ou criadores de rebanhos, desenvolvendo seus próprios vocabulários novos, e, por fim, línguas. Todos os nichos existentes acabariam ficando cheios de gente, e em conseqüência haveria uma redução e, por fim, o término do surgimento de novas línguas. E depois, enfatizou Nettle, o número de línguas começaria a cair; alguns grupos ficariam mais poderosos e iluminariam outros, enquanto o desenvolvimento do comércio exigiria a partilha de palavras e um determinado grau de convergência lingüística.
À medida que as populações se fossem expandindo mais e tornando-se muito apinhadas, haveria uma redução ainda maior no número de línguas presente. Esse processo é prontamente visível no mundo atual, onde se espera que o número existente de línguas, cerca de 6 mil 500, chegue à metade nos próximos 100 anos, em conseqüência da globalização. E assim Nettle concluiu que a alta diversidade lingüística do Novo Mundo indicava uma colonização recente, opinião compatível com o cenário do Clovis Primeiro. Uma conclusão exatamente oposta à chegada por Johanna Nichols.
Como poderiam ela e Daniel Nettle ter chegado a tão diferentes conclusões? Um dos motivos é que abordam o estudo de línguas a partir de perspectivas muito diferentes. À diferença de Johanna Nichols, Daniel Nettle é antropólogo por formação; preocupa-se basicamente com a maneira como as pessoas usam a língua para manter relações sociais, e como os fatores econômicos e ecológicos influenciam a distribuição e o número de línguas num continente específico. Lingüistas como Johanna, porém, têm apenas um interesse secundário por essas questões, e vêem as línguas como entidades em evolução, com uma dinâmica bastante independente de seu contexto social, econômico e ambiental.
Com todas essas afirmações contraditórias sobre colonização americana, os lingüistas parecem estar no mesmo barco que os arqueólogos — incapazes de concordar uns com os outros até mesmo nos fatos mais básicos. Aqueles entre nós que não têm especialização lingüística são deixados num dilema sobre em quê acreditar. Minha tendência é mais para o método antropológico de Nettle e a conclusão meio deprimente de Goddard e Campbell: que a extensão de conhecimento confiável sobre a história lingüística dos índios americanos, por ser tão incompleta, é compatível com uma ampla variedade de cenários para a povoação das Américas. Lá se vão os lingüistas. Estão os geneticistas se saindo melhor?
Já vimos como os arqueólogos podem usar a genética de pessoas vivas ao examinarem se a disseminação da agricultura pela Europa surgiu da migração de camponeses com ancestralidade do oeste da Ásia ou a partir da adoção indígena da cultura neolítica. A mesma técnica de busca de padrões específicos de mutação genética, sobretudo no DNA mitocondrial, foi usada para determinar quando as pessoas chegaram pela primeira vez às Américas, e de onde vieram.
Têm-se estudado três origens de DNAmt: a dos americanos nativos; a de pessoas vivas no norte e leste da Ásia, para permitir comparações com os dados americanos; e a partir dos restos de esqueletos de americanos nativos pré-históricos. Os tipos específicos de análises feitas, e as conclusões específicas a que chegaram, têm variado muito. Mas uma importante descoberta foi que as seqüências de DNAmt de americanos nativos classificam-se em quatro grupos principais, descritos como A, B, C e D.
Os americanos nativos das famílias de língua na-dene e esquimó-aleúte produzem em especial seqüências DNAmt que pertencem ao grupo A, enquanto — talvez não surpreendentemente — a enorme família de língua ameríndia tem representantes de todos os quatro grupos. Tal diversidade genética — indicando contribuições de várias populações migrantes — apóia os lingüistas que duvidam da realidade da família ameríndia. Mas do mesmo modo que os arqueólogos e os lingüistas, os geneticistas não conseguem apresentar uma única resposta relacionada a quando e como ocorreu a colonização.
Em 1993, uma equipe de geneticistas chefiada por Satoshi Horai, do Instituto Nacional de Genética no Japão, sugeriu que cada um dos quatro grupos é produto de uma migração separada para as Américas entre 21-14 mil anos atrás. Um ano depois, uma equipe liderada por Antônio Torroni, da Universidade de Emory, Atlanta, EUA, analisou os dados de maneira ligeiramente diferente e concluiu que os ameríndios haviam migrado para as Américas em duas ondas: a primeira, dos grupos A, C e D, chegando entre 29-22 mil anos atrás, e a segunda do grupo B apenas em uma data muito superior. Em 1.997 Sandro Bonatto e Francisco Salzano da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil, concluíram que todos os quatro grupos tinham uma origem comum de uma migração anterior a 25.000 anos antes.
Por que deveriam os geneticistas achar tão difícil chegar a um consenso? Uma das razões é que enfrentam vários dos mesmos problemas que os lingüistas. Do mesmo modo como há limitada compreensão do ritmo no qual as línguas divergem umas das outras, também há limitado acordo sobre o ritmo da mutação genética. Os geneticistas na verdade usam seus melhores palpites quanto à freqüência das mutações, e esses palpites às vezes são muito diferentes. Além disso, diferentes genes podem mudar em ritmos diferentes, e algumas mutações poderiam mascarar outras surgidas antes.
Outra razão é que, mesmo com nosso conhecimento limitado da história e pré-história americana, está claro que houve uma intensa mistura dos genes de pessoas que podem ter-se originado de migrações separadas para as Américas, em diferentes épocas. Após tanta mistura, talvez seja inteiramente impossível identificar o número e tempo dessas migrações a partir dos genes dos americanos nativos atuais.
A tentativa de reconstituir a pré-história americana a partir dos dentes, línguas e genes de hoje também se vê crucialmente diante de outro problema em potencial, suscitado pelos escassos restos de esqueletos dos primeiros e antigos americanos. À partir de 2.000 d.C., não há mais que 37 indivíduos representados em toda a coleção de restos de ossadas que datam de antes de 9.000 a.C. Vários desses indivíduos são conhecidos apenas a partir de poucos fragmentos de osso.
Quando essa coleção foi estudada por D. Gentry Steele e Joseph Powell, antropólogos da Universidade A&M do Texas, EUA, eles fizeram uma descoberta surpreendente: os nativos americanos mais antigos pareciam muito diferentes dos registrados de tempos pré-históricos ou históricos posteriores. Os povos mais recentes são descritos como tendo uma aparência mongolóide — rostos relativamente largos e chatos e malares altos, indicando claramente descendência do norte da Ásia. Mas as amostras de esqueleto pré-9.000 a.C. sugerem pessoas com rostos curtos e estreitos e padrões dentários muito diferentes dos descritos por Christy Turner para os nativos americanos. Na verdade, em vez de parecerem com os americanos recentes e o povo norte-asiático, esses primeiros americanos são de aparência muito mais semelhante à dos primeiros australianos, que datam de 60 mil anos atrás, e africanos modernos.
Em 1996, descobriram-se um precioso novo crânio e restos parciais de um esqueleto na região do rio Columbia, no Estado de Washington. Após realizar um exame médico-legal, o arqueólogo local, James Chatters, concluiu a partir das feições caucasóides — as que distinguem povos nativos da Europa, norte da África e do Oriente Próximo, como nariz estreito, de cana alta — que os ossos eram de um colonizador europeu recente. Mas quando datado, acabou-se sabendo que o homem morrera cerca de 7.400 a.C. — data que se encaixa no estilo de um projétil de pedra enterrado no osso de sua coxa.
O Homem de Kennewick logo virou uma causa célebre. Não menos que 5 tribos nativas americanas reivindicaram-no como ancestral direto. A tribo umatilla tomou a dianteira e, pela NAGPRA [acrônimo em inglês de Lei de Repatriação e Proteção de Túmulos Nativos Americanos] de 1990, exigiu imediato reenterro num local secreto. Muitos cientistas ficaram horrorizados. Alegaram que isso seria um abuso de legislação, e que não se podiam demonstrar quaisquer vínculos com qualquer tribo: enterrá-lo de novo constituiria a perda de uma prova inestimável sobre a colonização das Américas. Os ossos foram vedados numa urna e realizaram-se demorados processos judiciais para decidir seu destino, antes de conceder-se permissão para testar o seu DNA; coisa que indignou os índios umatilla.
Quando Chatters soube da data de 7.400 a.C., reviu sua opinião, declarando que o Homem de Kennewick era apenas do tipo caucasóide. Uma detalhada análise estatística mostrou que a forma do crânio era mais semelhante à do povo polinésio, sobretudo da ilha Oriental no Pacífico e os ainos do Japão. Os últimos são na verdade de aparência caucasóide, e bem podem descender do mais antigo Homo sapiens, e ter-se distribuído pela Ásia oriental logo depois de 100 mil anos atrás. Alguns deles viajaram para a Austrália há 60 mil anos, e outros têm muita chance de ser os primeiros a chegar no Novo Mundo.
Em vista da diferença em sua aparência física, os primeiros americanos, conhecidos a partir do registro do esqueleto pré-9.000 a.C., talvez não tivessem qualquer relação com os nativos americanos conhecidos nos registros históricos e pré-históricos posteriores, e na verdade com os que vivem hoje. É evidente que todos esses nativos americanos mais recentes se originaram de migrações — talvez mais bem descritas como dispersões — de povos do norte da Ásia, depois que evoluíram as distintivas feições mongolóides. Os já presentes nas Américas talvez se hajam simplesmente incluído nessas novas populações, com seus próprios traços dentários, genéticos e lingüísticos sendo inundados pelos dos recém-chegados. Por outro lado, os primeiros americanos poderiam ter-se tornado extintos, não dando contribuição genética e lingüística alguma às populações futuras. Uma terceira — e mais improvável — alternativa é que os primeiros americanos foram deliberadamente varridos pelos novos imigrantes — lembrem-se da ponta do projétil na coxa do Homem de Kennewick. Qualquer que seja o cenário correto, as pré-histórias dentárias, lingüísticas e genéticas podem jamais remontar aos primeiros americanos. Por isso, precisaremos recorrer ao registro arqueológico. Desse modo, lemos de voltar ao último e talvez mais crítico sítio arqueológico nas Américas: Monte Verde.
25
Nas Margens do Chinchihuapi
Escavação e interpretação de Monte Verde,
1977 - 1997 d.C., 12.500 a.C.
John Lubbock anda pela margem turfosa do arroio Chinchihuapi, um raso e sinuoso braço do rio Maullin, no sul do Chile. O arroio foi seu guia em todas as florestas, pântanos e verdes campos de gado a pastar. Os alto picos dos Andes, cobertos de neve, pairam acima de copas de árvores a leste; encostas florestais mais baixas da cordilheira litorânea do Pacífico elevam-se a oeste. O próprio oceano Pacífico não fica a mais de 30 quilômetros.
O destino de Lubbock é Monte Verde, onde Tom Dillehay, da Universidade de Kentucky, concluiu sua temporada de escavação em 1985 — um sítio que o deixara "oprimido e ligeiramente confuso" quando começou a trabalhar uns 8 anos antes. Turfa, restos de pântano e plantas enlameadas logo se acumularam sobre cabanas abandonadas, áreas de trabalho, locais de cozinha e montes de lixo, inibindo os processos normais de decomposição e criando níveis sem precedentes de preservação. E assim Dillehay não apenas tinha artefatos humano e ossos de animais para escavar, mas também resíduos de plantas, tábuas de cabana, artefatos de madeira, pedaços de couro e até nacos de carne de animal.
Ele reuniu uma impressionante equipe de colaboradores: geólogos, botânicos, entomólogos e paleontólogos, para não falar em seus colegas arqueólogos. Além de analisarem as descobertas arqueológicas, eles precisavam reconstituir a paisagem onde tinham vivido os habitantes de Monte Verde. Sua equipe tinha ainda mais uma importante tarefa: estabelecer a idade do assentamento.
Enquanto Lubbock segue o arroio, a água se aprofunda e corre mais rápido. A temperatura do ar cai e fica mais úmida; seus passos não mais batem em turfa elástica, mas afundam um pouco na areia fofa. Ele ouve vozes. Quando contorna uma curva no rio, Lubbock espera ver a escavação em pleno vapor, como nas Cavernas Bluefish e Pedra Furada. Mas chegou a Monte Verde muito antes do planejado — é 12.500 a.C. e o assentamento, com seus habitantes originais, prospera.
As pessoas têm cabelos negros de azeviche e pele azeitonada; corpos magros e envoltos em mantos tipo poncho, de pele de animal. Vários trabalham no fim de uma tenda de forma oval, dividida em diversas unidades, talvez casas de família. Fica a alguns metros da margem do rio, e os que trabalham parecem estar acrescentando outra unidade ao fim, já se havendo assentado troncos como fundações de paredes e piso. Trabalhando com rapidez e eficiência, afinam as pontas das estacas com lascas de pedra e enfiam-nas no solo arenoso. Perto, um grupo de mulheres sentadas prepara cordão com fibras vegetais para prender cortinas de couro sobre a armação da tenda.
Enquanto homens e mulheres trabalham, crianças espadanam no arroio e um velho cuida de uma grande fogueira diante de outra fileira de moradias. Rearruma os seixos aquecidos pelas brasas, e dois rapazes preparam a comida. Embrulham pequenos legumes parecidos com batata em grandes folhas verdes, empilhando-os numa travessa de casca de árvore, como preparação para cozinhá-los no vapor; nozes são moídas num pilão de madeira e despejadas numa tigela de palha contendo folhas de gostoso aroma.
Um grito chega da floresta que fica além do pântano nos fundos da aldeia. Pessoas espreitam pelas cortinas de couro de suas cabanas e o trabalho é esquecido quando um grupo de vultos sorridentes, com pesados sacos, avança por entre as árvores, atravessando o atalho coberto de mato que dá na aldeia. Gritam-se saudações, e toda a comunidade — pelo menos trinta homens, mulheres e crianças — corre ao encontro deles.
Os recém-chegados sentam-se ao lado da fogueira, a comida semipreparada empurrada para um canto. Todos se juntam em volta, ansiosos por ver o que foi trazido do litoral. Lubbock se vê espremido no meio deles, roçando ombros com as pessoas de Monte Verde — não os primeiros americanos conhecidos, mas os mais antigos.
Os sacos são abertos. Um por um, o conteúdo é retirado, cada artigo erguido e apresentado com um relato sobre a coleta. As pessoas estão atentas. Quase todo relato termina com uma risada, à medida que o artigo é passado em volta do grupo e depois posto com todo cuidado no chão: uma bexiga cheia de sal, provado com grande alegria enquanto circula; uma cuia de cabaça cheia de betume preto, pegajoso, que será usado para fixar lascas de pedra em cabos de madeira; uma coleção de seixos de praia esféricos, que serão preferidos como pedras de martelo às angulares encontradas na enseadas.
Assim que se retirou tudo, os viajantes continuam conversando, respondendo muitas perguntas sobre o que viram e com quem se encontraram. Estiveram ausentes por dez dias, visitando outro assentamento e voltando pela costa para catar iguarias como algas marinhas, mariscos, berbigões e ouriços-do-mar, junto com qualquer outra coisa que julgassem útil.
O grupo aos poucos se dispersa, para só retornar depois que cai o crepúsculo, reunir-se e cantar em volta de uma fogueira e sob um céu estrelado. Arrumam-se nas brasas ervas que enchem o ar de aromas pungentes. Um homem dá início ao canto, enquanto os outros ficam calados; a música transfere-se para as moças e depois retorna ao homem, com os outros pondo-se a bater palmas. Tem início a dança, que deixa uma faixa de pegadas em volta da lareira. A comida é dividida em grandes travessas de folhas — as batatas selvagens, carne assada, uma mistura de folhas, caules, raízes raladas e a salada de nozes moídas. Quando a refeição é concluída, recomeçam o canto e a dança, e continuam até bem avançada a noite americana. É 12.500 a.C., e quando Lubbock se afasta para dormir, lembra onde mais esteve nessa data na história humana: pegando em armadilhas lebres árticas em Creswell Crags; tocaiando renas no vale de Ahrensbur; vendo pessoas de Ain Mallaha moerem amêndoas e assarem pão.
Os rios sinuosos estão sempre se desviando de seu curso, depositando os sedimentos que levam e criando novos bancos de areia e canais. O arroio Chinchihuapi teve uma enxurrada dessa atividade em 1976, varando um de seus canais anteriores que há muito fora enterrado embaixo de um pântano de turfa. As velhas margens do arroio ficaram expostas e foram ainda mais recuadas por madeireiros locais, para fazer uma trilha destinada ao tráfego de seus carros a boi rebocando madeira.
Membros da família local de Gerardo Barria encontraram ossos projetados da margem, que deram a um rapaz, na época estudante de agricultura, achando que eram de vacas. O rapaz mostrou-os a Carlos Troncoso, antropólogo na Universidade de Valdivia, e a seu professor Maurício van de Maele, diretor do Museu. Os dois examinaram o sítio e encontraram mais ossos, junto com artefatos de pedra. Nesse estágio, Tom Dillehay, que ensinava na universidade, ficou interessado, intrigado com possíveis marcas de corte nos ossos e a freqüência caracteristicamente alta de costelas. Inspecionou o sítio em 1976 e logo começou a escavação que o levaria, a ele e a toda a pré-história americana, até o outro lado da Barreira Clovis.
Mesmo que a teoria do "Clovis Primeiro" houvesse permanecido intata, o grau de preservação em Monte Verde continuaria tendo garantido sua fama como um dos mais admiráveis sítios arqueológicos no Novo Mundo. Foram necessários dois enormes volumes para Dillehay publicar e interpretar os dados de sua escavação, o último lançado em 1977 — mais de 20 anos após o início do trabalho. Com tantos testemunhos, ele pôde elaborar uma reconstituição do estilo de vida em Monte Verde, afirmando que as pessoas viviam o ano inteiro no assentamento, e ou comerciavam com moradores do litoral ou simplesmente faziam visitas regulares para coletar comida e matérias-primas dos estuários, poças na rocha e praias. No entanto, é a data de Monte Verde que eleva o sítio acima de todos os outros nas Américas.
Dillehay conseguiu identificar duas coleções distintas de artefatos. A maior, que incluía a maioria dos instrumentos, restos de cabanas e a grande parte dos detritos alimentares, foi chamada de MV-II e datada por métodos de radiocarbono de cerca de 12.500 a.C. A segunda coleção, MV-I, era mais efêmera e vinha de antigos sedimentos fluviais. Dillehay encontrou punhados de carvão que talvez sejam restos de lareiras junto a possíveis artefatos de pedra e madeira, e estes eram datados de no mínimo 33.000 a.C. Ele próprio permanece cauteloso em relação à MV-I, reconhecendo a necessidade de escavar uma área maior antes de defender qualquer conclusão com confiança. Mas em 1985 não tinha a menor dúvida sobre a validade da data da ocupação de 12.500 a.C. A Barreira Clovis, que permanecera resolutamente intata por mais de 50 anos, fora levada pelas águas do arroio Chinchihuapi.
Quando Lubbock acorda na manhã seguinte, a obra na nova cabana já recomeçou mais uma vez; agora amarram-se couros a armações de madeira e estendem-se galhos quebrados de um lado a outro do teto. Outras pessoas fazem e consertam instrumentos com o recém-adquirido betume. As lascas presas a cabos mal são trabalhadas — podiam ter sido facilmente confundidas com pedras fraturadas pela natureza. Na verdade, Lubbock vê que as pedras polidas coletadas do leito do arroio são usadas como foram encontradas — pouco diferentes das descobertas nas Colinas Calico e em Pedra Furada.
A maior parte da atividade ocorre a uns 30 metros das cabanas, no que parece ser a oficina do assentamento. Lubbock vagueia entre vários grupos de homens e mulheres, cada um envolvido numa diferente tarefa, vários mascando enquanto trabalham. Três homens sentados de pernas cruzadas fazem boleadeiras de pedra para caçar. Usando os seixos duros da praia, batem e aparam cada nódulo de pedra mais macia até quase transformá-lo numa esfera perfeita, antes de fazer uma ranhura para encaixar a corda. Outro grupo corta madeira com grandes machados de pedra — técnica muito semelhante à exigida para fazer pontas Clovis.
Há apenas uma construção nessa área do assentamento, e é bastante diferente das outras em Monte Verde. Tem forma de domo — árvores novas inclinadas, cobertas com couros. Lubbock olha o interior. O piso tem uma plataforma triangular erguida, feita de areia e saibro socados, com duas extensões curvas que se projetam em cada lado da entrada. Embora sem ninguém dentro, o piso está juncado com uma miscelânea de gamelas, pilões e almofarizes, esmeris e espátulas de madeira. Pendendo do teto, feixes de folhas, matos e flores.
Perto, trabalham-se couros de animais. Alguns são presos bem esticados com estacas no chão para que se retirem a gordura e os tendões raspando-os; outros são estendidos e socados a fim de torná-las macios e leves para vestuário. Os implementos de osso empregados quase nem sequer foram modificados, fazendo Lubbock lembrar-se dos supostos instrumentos das Cavernas Bluefish. Um arqueólogo menos meticuloso poderia facilmente não notar as pontas pouco aplainadas e os pequenos cortes nos lados.
Dispersas entre esses fabricantes de instrumentos e preparadores de pele, vêem-se várias lareiras antigas. Uma delas é mais uma vez reativada — põem-se seixos em suas cinzas e cobrem-nos com lenha e folhas secas. Quando acesa, há um clarão súbito mas de vida curta. Enquanto o fogo se firma, folhas secas tiradas de dentro da estrutura são amassadas numa gamela com água e, após 30 minutos, acrescentam se pedras quentes de brasas incandescentes para fazer o chá. O trabalho pára e o chá é distribuído, a gamela sendo passada de boca em boca. Antes de bebê-lo, nacos de plantas mastigadas são cuspidas no chão.
Lubbock serve-se do chá. Ali sentado, bebendo-o, vê uma canoa chegar e os dois jovens que a ocupam pedem ajuda para descarregá-la. Trazem uma coleção de costelas e um enorme osso da coxa de um mastodonte — uma grande criatura semelhante ao elefante, que vivia em todas as Américas antes do fim da era glacial. As pessoas de Monte Verde encontraram a carcaça alguns dias antes num tesouro inesperado que já fornecera pêlo, presas e couro. As grossas solas das patas transformaram-se em excelentes cestos; órgãos internos selecionados foram esvaziados, limpos e costurados para fornecer sacos impermeáveis.
Lubbock lembra-se de um trecho de Tempos pré-históricos. O John Lubbock vitoriano resumira uma história publicada de 1857 sobre os restos de um mastodonte no Missouri. Ao que parece, fora "morto apedrejado pelos índios, e depois consumido parcialmente por fogo". A história fora escrita por um certo Dr. Koch, que achava que os índios tinham encontrado a imensa criatura impotente, atolada na lama, e arremessaram-lhe pedras colhidas na margem de um rio perto. Também afirmou ter encontrado várias pontas de flecha, uma pedra pontuda e machados de pedra entre as cinzas, ossos e rochas. Embora o John Lubbock vitoriano citasse o Dr. Koch extensamente, pareceu cético, comentando que ainda era preciso provar a correção dessas observações.
Após as controvérsias em torno das Cavernas Bluefish, Meadowcroft e Pedra Furada, não surpreenderá o fato de nem todos os arqueólogos ficarem tão convencidos quanto Dillehay de que ele transpôs a Barreira Clovis. Thomas Lynch, arqueólogo hoje no Museu de Brazos County, em Bryan, Texas, sugeriu que os artefatos devem ter-se desfeito nos depósitos de uma ocupação humana muito mais recente — embora não se conheça nenhuma na área. A arqueóloga da Universidade de Massachusetts, Dena Dincauze, achou que Dillehay interpretou errado as datas de radiocarbono.
Em 1997, um grupo de abalizados arqueólogos visitou Monte Verde para examinar a afirmação de Dillehay — continuando a tradição daqueles que haviam visitado Folsom em 1927 e Pedra Furada em 1993. O grupo de Monte Verde incluiu os principais protagonistas no debate sobre o povoamento das Américas nos 30 anos anteriores. Lá estavam David Meltzer, com seu íntimo conhecimento da história dos estudos arqueológicos; Vance Haynes, paladino do cenário do "Clovis Primeiro" desde a década de 1960; James Adovasio, que defendera sua posição sobre a Gruta de Meadowcroft; e Dena Dincauze, que questionara as interpretações de Dillehay.
A visita deles foi uma coisa extremamente meticulosa. Começou com um estudo da publicação final de Dillehay sobre Monte Verde, prestes a ir para o prelo, e continuou com uma inspeção dos artefatos de Monte Verde abrigados nas Universidades de Kentucky e Valdivia. O grupo depois ouviu palestras sobre os ambientes passados c presentes em Monte Verde, e por fim fez um detalhado exame do próprio sítio. Ao cabo daquele dia, reuniram-se para discutir suas constatações e decidir se Tom Dillehay conseguira o que escapara a Louis Leakey, Jacques Cinq-Mars, James Adovasio e Niède Guidon: uma inequívoca demonstração de assentamento pré-Clovis nas Américas.
Chegou-se à unanimidade. Não restou em nenhum do grupo qualquer dúvida de que Dillehay na verdade transpusera a Barreira Clovis. Era inquestionável que vários dos artefatos, sobretudo os instrumentos de pedra lascada, as "boleadeiras" e as fibras nodosas tinham sido feitos por seres humanos; do mesmo modo, não se podia contestar que esses artefatos foram encontrados exatamente onde haviam sido jogados fora, vedados com muita segurança pela turfa que se desenvolvera no sítio. Verificou-se que as datas se tinham mantido incontaminadas — demonstrando inequivocamente que a ocupação humana ocorrera cerca de 12.500 a.C. Poderia ter sido até muito mais cedo. Pois embora os restos da MV-I fossem esparsos e recebessem menos atenção, alguns do grupo pelo menos ficaram impressionados com o indício de uma ocupação de 33 mil anos de idade em Monte Verde.
Mas a verificação dessa fase particularmente precoce de ocupação precisa esperar até Dillehay escavar uma área maior. Para as necessidades desta história —- e da arqueologia americana durante pelo menos a próxima década — a aceitação da ocupação em 12.500 a.C. é importante demais. Significa que o cenário do Clovis Primeiro está morto e enterrado.
Até 1927, ninguém sonhava que o sítio mais antigo das Américas produzisse pontas-de-lança e ossos de bisão. Folsom transmitiu uma visão novíssima dos primeiros americanos: caçadores de grandes animais nômades das planícies. Monte Verde foi igualmente inesperado e substituiu essa visão por outra: pessoas que habitavam florestas, coletavam plantas em comunidades estabelecidas.
Há mais uma drástica diferença entre esses sítios: enquanto Folsom fica no Novo México e parece razoavelmente situado como um marcador dos primeiros povos a chegarem à América do Norte, Monte Verde está a não menos que 12 mil quilômetros do extremo sul do corredor livre de gelo. Como seria mais fácil para o deslindamento da história da pré-história americana se Monte Verde ficasse no Alasca, ou até na América do Norte. Pois onde estão todos os outros assentamentos que as pessoas fizeram em sua jornada do norte para o sul? Talvez nas Cavernas Bluefish, talvez na Gruta de Meadowcroft, talvez em Pedra Furada. Quantos assentamentos existiriam ali? Isso depende de quanto tempo as pessoas levaram para chegar a Monte Verde, e se viajaram por terra ou por mar.
David Meltzer acha que, qualquer que fosse a rota tomada, haveriam sido necessários vários milhares de anos. Embora em tempos históricos caçadores de peles tivessem de fato percorrido o continente no espaço de dois séculos, ele afirma que isso dificilmente poderia ter ocorrido com "pequenos bandos colonizadores (com crianças, claro) viajando por ambientes diversos e desconhecidos e em mutação, transpondo importantes limites ecológicos, de vez em quando enfrentando formidáveis barreiras físicas, ecológicas e topográficas como as camadas de gelo, os lagos inchados e rios drenando-os, e mantendo durante o tempo todo laços de parentesco vitais e tamanhos populacionais".
A idéia de que os primeiros americanos eram exploradores ousados, percorrendo aqueles 15 mil quilômetros desde a Beríngia a Monte Verde em menos de 2 mil anos, é para Meltzer muitíssimo improvável. Se ele estiver correto, as pessoas devem ter entrado nas Américas antes da grande glaciação do LGM de 20.000 a.C. Mas, neste caso, a completa ausência de assentamentos validados nas Américas antes de Monte Verde é ainda mais admirável — admirável demais para eu acreditar.
Na minha concepção, os primeiros americanos, os que devem ter partido do Alasca e viajado até o sul do Chile em menos de uma centena de gerações, foram o mais extraordinário grupo de exploradores que já viveu neste planeta. Desconfio que o mistério do povoamento das Américas só pode ser desvendado invocando-se as peculiares qualidades humanas de curiosidade e sede de aventura que cm tempos recentes levaram homens aos pólos, ao fundo dos mares e à Lua. Terão as mesmas idéias impelido geração após geração dos primeiros americanos a viajar mais para o sul desde suas terras natais, talvez após deixar essas terras de barco e chegar à planície costeira do noroeste? Avançaram depois interior adentro e atravessaram lagos de água derretida, cordilheiras de montanhas e rios inchados, a fim de aprender a viver em matas, pradarias e florestas tropicais, e acabaram chegando a tempo em Monte Verde? Se assim for, Robson Bonnichsen estava sem dúvida correto quando, em 1994, descreveu os primeiros americanos como "uma admirável gente nova num admirável mundo novo".
Se essa viagem de fato ocorreu, uma jornada através das paisagens em turbilhão da América do Norte quando o aquecimento global se instalava, teria sido um dos mais importantes acontecimentos na história humana. Um acontecimento que agora precisamos visitar para reconstituir o capítulo seguinte da história americana após o gelo — a extinção da megafauna.
26
Exploradores numa Paisagem Agitada
Fauna, evolução da paisagem e colonização humana norte-americanas, 20.000 – 11.500 a.C.
Imagine-se numa floresta desconhecida numa noite de verão, com a luz começando a declinar, em 12.000 a.C. Você está numa clareira, cercado por zimbros c freixos, bétulas e mognos. Um ruidoso rio abre caminho em corredeiras, proporcionando um acompanhamento de fundo para o zumbido de insetos e o ocasional guincho de um pássaro oculto. Alem das árvores, enormes penhascos dominam o rio e a mata, projetando sombras longas e protetoras.
Agora imagine um novo ruído, talvez um novo cheiro. Uma criatura logo se aproxima de você, bufando como um porco ao avançar pela vegetação rasteira, evitando os cactos enquanto busca raízes e caules comestíveis. Pára a menos de um metro e ergue-se nas patas traseiras para farejar um odor desconhecido no ar, Encara-o, na altura dos olhos, mais de 1,80 acima do chão. Marrom e peludo, corpulento, uma cabeça pequena com olhos redondos e brilhantes e narinas abertas. Os membros anteriores pairam imóveis; três garras tipo gancho estendem-se de cada pata em forma de pá. O animal grunhe, volta a ficar de quatro e continua em seu caminho, rumo à caverna no penhasco.
Agora se ponha num pequeno outeiro, em meio a uma fileira de ciprestes. O ar é pegajoso com o cheiro de alcatrão. Além de você, há lagos; não cintilantes com doce água azul, mas lagos oleosos, escuros, supurantes, nos quais incham e explodem putrefatas bolhas de gás. Um camelo jaz de lado nesse lodo de alcatrão. Preso. Literalmente grudado no chão. Ergue a cabeça e solta um último berro antes de desistir, exausto de sua luta. Mas não é o alcatrão que toma a vida do animal. Um tigre-de-dente-de-sabre, do tamanho de um leão, com caninos serrilhados de 20 centímetros de comprimento, salta. Escancara a enorme boca antes de apunhalar o camelo e dilacerar sua carne.
A pouca distância dali, asas adejam violentamente, quando um abutre também luta para libertar-se do alcatrão. Ao bater as asas, estas se tornam negras e pesadas. A busca da liberdade é inteiramente inútil.
Hoje, claro, seria um tanto surpreendente encontrar um esmilodonte despachando um camelo (apropriadamente chamado Camelo de Ontem pelos cientistas) nos poços de alcatrão de Rancho La Brea, no centro de Los Angeles, ou uma preguiça do chão dirigindo-se para a Caverna Rampart, no Grand Canyon. Para ter visões como essas, você teria de ter sido um dos primeiros americanos.
A fauna americana atual encontra-se gravemente empobrecida comparada à vista pelos primeiros habitantes humanos. Não apenas faltam a preguiça do chão c o esmilodonte, mas também o gliptodonte — tatu gigantesco — e o eremotherium, uma gigantesca preguiça do chão com seis metros de comprimento e três toneladas de peso. Não se vêem mais em lugar algum os castorídeos, castores do tamanho de um urso-negro, e os teratornos, aves comedoras de carne cujo tamanho ultrapassava o dos condores. Nem os mamutes e seus primos distantes, os mastodontes, elefantídeos com presas retas e crânios chatos.
Nem todos os animais hoje extintos teriam sido estranhos aos olhos modernos. O chacal-medonho e o guepardo se parecem com suas contrapartes modernas. Como também as cinco espécies de cavalos que se tornaram extintas — um animal que teve de ser reintroduzido em sua terra natal por colonizadores europeus .
A desorientadora variedade de animais na América do Norte encontrada pelos primeiros americanos foi conseqüência de milhões de anos de evolução biológica e geográfica muito antes da chegada do LGM. Até 50 milhões de anos atrás, a América do Norte era ligada à Europa por uma ponte de terra através da Groenlândia. Os dois continentes partilhavam vários dos mesmos animais, como o hyracotherium, ou "cavalo do amanhecer", um animal de cerca de 30 centímetros de altura, que evoluiria na América do Norte para o cavalo de hoje. Mas quando os dois continentes se separaram, desapareceu a ponte de terra, e os animais na Europa e América do Norte passaram a evoluir em direções muito diferentes. Há 40 milhões de anos, surgiu uma nova ponte — que proporcionou um caminho desde a Ásia e foi tomado por diversas espécies. A mais impressionante era o mastodonte, um animal que tanto os primeiros americanos quanto os Clovis acabariam encontrando, nos brejos que circundavam Monte Verde ou nas florestas de espruce da América do Norte.
Entre 60 e 2 milhões de anos atrás, as Américas do Sul e do Norte eram inteiramente separadas uma da outra. No continente sul, evoluíra uma admirável variedade de animais — entre eles as preguiças gigantescas, o gliptodonte e outras formas de tatus gigantes. Quando se formou a terra panamenha há 2 milhões de anos, alguns desses animais dispersaram-se para a América do Norte, enquanto outros como o cavalo, veado, tigres-de-dente-de-sabre e ursos do norte foram para o sul. Não surpreende que os paleoantropólogos descrevam isso como o "Grande Intercâmbio". Em cerca de 1,5 milhão de anos atrás, chegaram as duas primeiras espécies de mamute pela ponte de terra asiático-americana, o mamute colombiano (Mammuthus columbi). Seu primo, o mamute peludo (M. primigenius), espalhou-se pela América do Norte por volta de 100 mil anos atrás e permaneceu nas regiões norte. As duas espécies na verdade partilhavam o continente entre elas.
A conseqüência desses períodos de evolução isolada e intercâmbio de espécies foi que, ao chegarem — alguns antes de 12.500 a.C. — os primeiros americanos encontraram alguns animais conhecidos, e alguns que seus ancestrais jamais tinham visto antes. Não teria havido nada semelhante às gigantescas preguiças do chão e tatus gigantes em suas terras asiáticas, embora várias gerações de seus ancestrais tivessem conhecido, e talvez caçado, os mamutes.
Sabemos dos animais extintos a partir de mais de um milhão por ossos escavados dos poços de alcatrão de Rancho La Brea. Desde pelo menos 33 mil anos atrás, o petróleo vinha vazando para a superfície onde hoje se localiza o centro de LA. Quando exposto, reagia com a atmosfera tornando-se viscoso e pegajoso, e acabava transformando-se em asfalto e solidificando-se. Os animais eram colhidos nesses poços de alcatrão, oferecendo aos geólogos de hoje um extraordinário registro de fauna da era glacial — uma "gigantesca cápsula do tempo fóssil", como descreveu David Meltzer. As escavações ocorreram durante todo o século XX e geraram uma admirável série de restos de esqueletos, vários em estado quase perfeito. Assim que os cientistas resolveram como retirar o petróleo dos ossos, estes ficaram disponíveis para datação por radiocarbono e mostraram um grande acúmulo entre 33.000 e 10.000 a.C.
Outra fonte de indícios da extinta fauna é o estéreo que ela deixou para trás na Caverna Rampart e outras no Arizona. Os interiores das cavernas permaneceram tão secos desde a idade do gelo que as bactérias não conseguiram fazer seu trabalho destrutivo. Em conseqüência, as bolas de estéreo de preguiças do chão, de mais de 10 centímetros de diâmetro, e ainda compactas nos galhos nos quais os bichos se alimentavam, sobreviveram — em alguns casos a textura e o cheiro tão frescos quanto no dia em que foram gerados. David Meltzer mais de uma vez abriu uma gaveta contendo estéreo de preguiça no prestigioso Instituto Smithsonian, em Washington, e tinha o cheiro de um celeiro. Fios de pêlo e até pedaços de couro são às vezes encontrados.
A Caverna Rampart, no Grand Canyon, foi um inestimável tesouro inesperado desses depósitos — até serem destruídos por um incêndio que ardeu de julho de 1976 a março de 1977. Antes disso, Paul Martin tivera de cavar através de camadas de um monturo de fezes de rato e morcego para encontrar as bolas de estéreo. Essa caverna fica no alto da face do penhasco vertical de oito metros e não é de fácil acesso: as preguiças deviam ter uma fenda por onde escalar e, uma vez dentro, ficavam cuidadosamente escondidas dos lobos e tigres-de-dente-de-sabre que rondavam à espreita.
Os ossos de animais extintos também foram encontrados erodindo-se das margens de antigos rios e — muito raramente — em sítios arqueológicos do período Clovis. Quando todas as fontes de indícios são reunidas, é visível que, após a evolução ter levado vários milhões de anos para produzir uma deslumbrante série de animais nas Américas, eles se extinguiram quase da noite para o dia, como um trágico final para o Plistoceno americano.
Não menos que 70% de todos os grandes mamíferos da América do Norte — trinta e seis espécies — tornaram-se extintos: animais descritos como sua "megafauna". Esse continente não foi exclusivo em sua devastação. Durante o mesmo período de tempo, quarenta e seis grandes animais tornaram-se extintos na América do Sul (80% de sua megafauna). Das dezesseis espécies que viviam na Austrália há 60 mil anos — entre elas marsupiais gigantes, cangurus gigantes e um leão marsupial — apenas um sobreviveu até a época moderna, o canguru vermelho, de mais de l,80 m de altura. Também ocorreram extinções na Europa, que perdeu sete espécies, incluindo o rinoceronte peludo e o alce gigante. Só a África escapou em grande parte ilesa, perdendo apenas duas das quarenta e duas espécies de sua "megafauna". Felizmente, restou-nos um lugar na Terra onde podemos ver animais extraordinários — os que chamamos de hipopótamos, rinocerontes e girafas.
Que aconteceu com toda a outra megafauna da era do gelo? Sua extinção é parte essencial de nossa história, e as que ocorreram nas Américas estão estreitamente relacionadas com outra história — a do povo Clovis. Outrora festejado como os primeiros americanos, julgou-se por muito tempo que foram suas lanças com ponta de pedra que levaram esses animais à extinção — na verdade, os relatos de assentamento humano e a extinção de megafauna talvez estejam tão intimamente entrelaçados que se tornam quase inseparáveis. Mas nesse entrelaçamento há uma terceira história que precisa ser contada: a evolução da paisagem norte-americana após sua libertação do profundo congelamento do LGM.
Quando as pessoas pisaram pela primeira vez nas Américas, o continente achava-se, como a maior parte do mundo, às voltas com uma mudança.
O grande degelo ganhara velocidade em 14.500 a.C., impelido pela redução das próprias camadas de gelo. A princípio elas ficaram apenas mais finas — no auge da grande glaciação, a probabilidade é de que tinham atingido 3 quilômetros de espessura. Começaram a deslocar-se, mudando de tamanho e forma de maneira muito errática, retraindo-se em algumas regiões e expandindo-se em outras. Pode-se imaginar as bordas como amebas ativas, pulsando instavelmente, ondulando e vacilando. Entre 14.000 e 10.000 a.C., houve pelo menos quatro avanços, chegando até o sul, como Iowa e Dakota do Sul, com o gelo às vezes vazando em seu leito pelo terreno congelado, e em outras vezes deslizando sobre a terra que descongelara.
Quando as camadas de gelo perderam contato com o mar, os icebergs não mais viraram e congelaram as águas, o que resultou no sopro de ar mais quente para o interior da terra e ainda maior aceleração da retirada do gelo. E então o Jovem Dryas interrompeu o aquecimento global logo após 11.000 a.C. Embora muito menos severa que na Europa e na Ásia ocidental, essa ocorrência desequilibrou as comunidades animais e vegetais que durante os 7 mil anos anteriores vinham-se adaptando a um mundo mais quente. A confusão ecológica se agravou com a súbita volta do rápido aquecimento global em 9.600 a.C. E então, quando começou o Holoceno, as Américas, junto com o resto do mundo, se firmaram: uma época de relativa estabilidade climática, hoje ameaçada pelo novo surto de aquecimento global causado pelo homem, que apenas se iniciou.
Quando as camadas de gelo acabaram perdendo a batalha contra o aquecimento global, deixaram um poderoso legado na paisagem da América do Norte; na verdade, foi o caos nos litorais e em comunidades costeiras em todo o mundo, quando bilhões de litros d'água derretida foram despejadas nos oceanos. Os que habitavam o extremo norte das Américas teriam visto sua terra natal da Beríngia diminuir de tamanho ano após ano, enquanto a costa se inundava e água salgada escorria pela estepe. Imagino as pessoas em topos de colinas, velhos contando aos pequenos que as florestas de abeto agora estendidas diante deles eram muito novas para sua terra. Explicam que, durante a infância deles, rebanhos de mamutes e zebus almiscarados pastavam em campinas onde agora pastam caribus. Assentamentos foram abandonados quando as comunidades rumaram para a costa, onde caçavam as recém-abundantes focas e morsas. Enquanto faziam isso, os claros céus azul-aço cobriam-se de um sudário de nevoeiro e garoa.
Os primeiros americanos que viajaram da Beríngia para o sul, mais provavelmente de barco ou a pé ao longo da planície costeira, exploraram as Montanhas Rochosas quando estas se libertaram da camada de gelo. Vejo-os subindo para apreciar as planícies a oeste, a massa de picos e os labirintos de vales abruptos a leste. Transpuseram rios que corriam pelos desfiladeiros e visitaram as geleiras que permaneceram nos vales altos. Não estavam sozinhos: plantas e árvores alpinas também escalavam as Rochosas, seguidas por carneiros monteses e vários pequenos mamíferos. Além das montanhas, os primeiros americanos encontraram as grandes bacias dos rios Colúmbia e Fraser. Assim que se libertaram do gelo, essas bacias logo foram cobertas de floresta conífera e os peixes voltaram a encher seus rios. E assim, imagine os primeiros americanos, com água fria de rachar até os joelhos, fisgando os salmões que vinham desovar e decidindo se aquele era um bom lugar para colonizar. Quando rumaram mais para o sul, no que hoje chamamos de Califórnia, encontraram paisagens às voltas com falta d'água, árvores escasseando e atrofiando-se. E novas plantas, como o cacto e a iúca. Talvez fosse aí que eles encontraram pela primeira vez a gigantesca preguiça do chão, procurando raízes e tubérculos comestíveis.
Os assentamentos se teriam localizado onde as pessoas encontravam mais abundantes plantas para coletar e animais para caçar; cada assentamento talvez tivesse então funcionado como uma base para outras jornadas exploratórias. O fato de não se ter encontrado nenhum sugere que se espalhavam escassamente e eram ocupados por um número relativamente pequeno de pessoas, talvez no máximo uma centena. Essas comunidades devem ter mantido contato umas com as outras para garantir que as populações fossem biologicamente viáveis: exigiam-se relações sociais disseminadas, para evitar endogamia e arranjar-se com o não retorno de um grupo de caça ou as baixas de um inverno rigoroso.
Quando comida, água e lenha eram abundantes, o crescimento populacional talvez tenha sido alto, logo gerando grupos de homens e mulheres prontos a estabelecer novos assentamentos em terras recém-exploradas. Essas terras às vezes podem não ter sido as vizinhas imediatas. Assim como os primeiros fazendeiros da Europa, os primeiros americanos talvez tenham saltado em seu caminho regiões improdutivas, em busca das bacias fluviais, pradarias, estuários e florestas onde a comida era abundante e a vida fácil — pelo menos, a medida em que pode ser fácil para pessoas num mundo desconhecido.
Precisamos imaginar grupos deixando assentamentos estabelecidos e dirigindo-se para o sul, a explorarem inexoravelmente um mundo que se ia tornando mais exótico a cada quilômetro percorrido. Em algum ponto de suas jornadas, teriam encontrado os poços de alcatrão do Rancho La Brea, e com toda probabilidade parado para observar as vãs lutas pela vida e as sangrentas cenas de morte. Na certa alguns grupos intrépidos rumaram das Rochosas para leste e fizeram uma penosa caminhada junto à borda da camada de gelo Laurentide, através de um mundo dominado por vento e água. Pense num grupo de homens bem aconchegados, as costas cobertas de peles voltadas para a tempestade de poeira que de repente chegava, e com a mesma rapidez deixava de soprar. Outras vezes, esses exploradores enfrentavam ventos de mais de 150 quilômetros por hora, semelhantes aos que sopram hoje das geleiras antárticas.
As gerações que se seguiram passaram por um período mais fácil, pois os ventos acabaram cedendo e a poeira assentando-se, criando sementeiras férteis que deram origem aos resistentes arbustos e árvores que tinham ladeado seu caminho para o norte. E assim podemos imaginar os netos e bisnetos dos pioneiros acuados pela tempestade acampando entre alamos, salgueiros e zimbros. Outras chegadas incluíram insetos, sempre rápidos na reação à temperatura mais quente, e pássaros que logo se seguiram. Quando nossos viajantes imaginários levantaram acampamento para continuar sua jornada, terão dado sua própria contribuição ao mundo em mudança levando mais sementes e insetos nos pés envoltos em couro e deixando-os atrás para florescerem nos novos solos.
Avançando na Beríngia, pelas Rochosas, ao longo da borda das camadas de Belo e depois mais ao sul, os primeiros americanos tinham de traçar mapas do Novo Mundo — mapas mentais que seriam envoltos em relatos e canções. Pois pela primeira vez as Rochosas, a Sierra Nevada e as Montanhas Apalache teriam adquirido nomes, mais provavelmente toda uma legião de nomes — um para cada pico, vale e caverna. E assim também os lagos, rios, quedas d'água e estuários, florestas, bosques e planícies.
Mas tão grande era a confusão ambiental causada pelo aquecimento global que cada nova geração de viajantes teria encontrado uma paisagem bem diferente da aprendida das histórias em volta da fogueira. Onde tinham esperado encontrar gelo, novos viajantes talvez encontrassem tundra; inversamente, tundra anterior talvez tivesse sido enterrada sob uma geleira que avançava. Onde esperavam encontrar renques de álamo e salgueiro, é possível que encontrassem bosques de espruce e pinheiro, árvores que excluíram pela força do número as espécies pioneiras. Deviam ter testemunhado inesperados tipos de insetos e pássaros, e começaram a encontrar novos animais, como os mastodontes, que chegavam para pastar nas novas florestas de espruce. E às vezes viam cenas de devastação: imagino um grupo parado, lívido, com a visão de árvores esmagadas, quebradas e enterradas por uma nova onda de gelo ao sul — árvores que tinham sido florestas onde seus pais tinham caçado gamos e coletado plantas para comer.
A visão mais assustadora deles, porém, certamente teria sido os enormes lagos que surgiam ao longo da borda das camadas de gelo. Eram imensas extensões de água, muito diferentes de quaisquer outras existentes hoje na América do Norte — na verdade em todo o mundo. Formadas pelas águas derretidas e represadas por penhascos de gelo na encosta norte, subiam suavemente o terreno até o sul. O primeiro teria surgido em 15.000 a.C. — o lago Missoula, na encosta sul da camada de gelo cordilheirano, do tamanho do lago Ontário atual — mas seu apogeu veio com o lago Agassiz no oeste, que surgiu em 12.000 a.C. e durou 4 mil anos. Quando no máximo de sua expansão, cobria 350 mil quilômetros quadrados. É quatro vezes a área do lago Superior hoje, que em si equivale a um país europeu de dimensões médias, como a Irlanda ou a Hungria, e é atualmente o maior lago de água doce do mundo.
As rotas de drenagem desses lagos eram mutáveis — o exemplo mais drástico sendo o lago Agassiz que, até 11.000 a.C., vazara para o sul, no golfo do México. Logo após essa data, uma represa de gelo em sua margem oriental rompeu-se, e em vez de tomarem a rota sul, bilhões de litros d'água começaram a correr para leste, para o rio Lawrence e depois o Atlântico Norte. É provável que tenha havido então um efeito catastrófico na circulação de águas oceânicas, o que por sua vez influenciou o clima, talvez causando o próprio Jovem Dryas.
Enquanto alguns lagos norte-americanos desapareciam completamente, criando devastadoras enchentes tão logo tinham surgido, outros, como o lago Missoula, não decidiam o que fazer. Parte do limite ocidental deste lago era formada por uma represa de gelo que se tornava cada vez mais insegura à medida que a bacia lacustre se enchia de água derretida. Quando a represa flutuou, o lago de repente vazou, desaguando vários milhões de litros d'água no lago vizinho, e depois no vale do rio Columbia, submergindo violentamente qualquer floresta que se interpunha em seu caminho. Em apenas duas semanas, o leito do lago secou, e a terra além não apenas perdeu suas árvores e plantas, mas também grande parte do solo, deixando exposto o leito de rocha firme. Um novo avanço do gelo recriou a represa de gelo, e o lago Missoula recomeçou a encher, para acabar rompendo-se mais uma vez a represa. Isso aconteceu não menos que quarenta vezes durante os 1 mil 500 anos de existência do lago, cada vez destruindo o frágil ecossistema aquático que acabara de ser restabelecido após a drenagem catastrófica anterior.
Essas enchentes destrutivas não foram exclusivas do lago Missoula — mas uma característica constante da vida na vizinhança das geleiras em recuo. E assim, temos de imaginar os primeiros americanos encontrando imensas expansões de lama da qual as águas lacustres tinham recém-vazado, onde as primeiras plantas — artemísia e ambrósia-americana — encontravam um lar. Continuando a explorar e conhecer seu mundo, teriam encontrado praias lacustres sem lagos, deltas fluviais sem rios. Mais drasticamente ainda, os que se aventuraram dueto até o litoral leste da América do Norte teriam testemunhado o rápido avanço do Atlântico. Enquanto a água derretida se despejava no mar, o litoral precipitava-se para o interior, às vezes a uma velocidade de 300 metros por ano. Ao norte de Cape Cod, ilhas foram submersas, enquanto mais ao sul uma extensa planície costeira mista de tundra e floresta de espruce era inundada e depois afundada. Hoje traineiras içam dentes de mamute e ossos de mastodonte em suas redes, como lembretes momentâneos do desaparecido mundo da era glacial.
Quando o gelo que bloqueava o vale do rio Lawrence desapareceu cerca de 12.000 a.C., o mar inundou o interior do continente. Durante 2 mil anos, Otawa, Montreal e Quebec ficaram submersas sob o mar de Champlain. Vejo os primeiros americanos à procura de baleias, toninhas e focas, talvez planejando caçá-las com seus caíques. Esse mar era instável, às vezes aquecido e diluído pela drenagem de lagos de água doce, outras esfriado por águas derretidas do gelo, e ainda outras salinizado por novos influxos do Atlântico. Hoje, pouco sobrevive desse lago — a não ser que se tenha olhos aguçados o bastante para encontrar as conchas de água do mar e fios fossilizados de alga marinha enterrados nos sedimentos em terreno elevado e seco no vale do rio Otawa. O mar desapareceu simplesmente porque a terra acabou ressurgindo, aliviada do peso do gelo.
A vida na borda das camadas de gelo não era daquelas que se poderia gozar por muito tempo; as matas e planícies ao sul eram o lugar para viver, mas também viviam mudando. Temos de imaginar um grupo dos primeiros americanos desorientados num novo tipo de floresta — na qual as árvores pendiam para iodos os lados ou haviam desabado em concavidades, talvez indo flutuar em lagos de água. Esses primeiros americanos estariam no que hoje os ecologistas chamam apropriadamente de "mata bêbeda", aquela em que o solo florestal se transformava em água.
Tal floresta desenvolvera-se em solo que ficava em camadas estagnadas de gelo. Por grandes áreas de Saskatchewan, Dakota do Norte e Minnesota, poeira carregada pelo vento, aluvião e saibro levados pela água, depósitos de solo e rocha deslocados pelo novo avanço do gelo tinham enterrado e isolado as camadas de gelo. O solo desenvolveu-se, foi colonizado por sementes e insetos pioneiros, e em menos de uma geração humana surgiu a mata. Mas como as temperaturas continuavam subindo sem parar, o gelo enterrado começou a derreter-se, a princípio onde a cobertura do solo era fina, permitindo que poças e lagos vazassem para a superfície. À água derretida nesses lagos juntou-se a da chuva, aquecendo-a o suficiente para que a vida se fixasse.
Os primeiros americanos não foram os únicos a descobrir esses lagos: teriam visto a chegada de patos e gansos, as patas enlameadas desprendendo sementes de plantas e ovos de caracóis. Os lagos começaram a correr para os rios, que acabaram se juntando aos tributários do Missouri. Espinhelas, barrigudinhos e outros peixes puderam então chegar a novos lagos florestais; os peixes traziam sua própria legião de colegas viajantes em forma de parasitas. A ecologia florescia, e no meio dela achavam-se os primeiros americanos.
Ao rumarem mais para o sul, teriam deixado atrás florestas de coníferas por matas abertas, um mosaico botânico de árvores e plantas raras vezes encontradas juntas hoje. Era uma paisagem que proporcionava pasto e folhas para vários dos grandes mamíferos, como os mastodontes e o mamute-colombiano. Este era maior e menos peludo que os mamutes peludos do norte, muitas vezes tendo quatro metros até o ombro e exigindo 225 quilos de comida diária. Os primeiros americanos talvez tivessem encontrado um pequeno grupo de mamutes-colombianos abrigado numa caverna no Planalto do Colorado, no sul de Utah. Ali, eles deixaram densas camadas de estéreo, montículos de excremento esféricos de até 20 centímetros de diâmetro, o que nos mostra que se alimentavam de capim, junça, abeto e espruce. A quantidade não surpreende — sabemos que um elefante moderno evacua de 90 a 125 quilos da matéria todo dia. Hoje chamamos essa gruta de Caverna Bechan; é o nome navajo — quer dizer "a caverna dos grandes tolocos".
Em 13.000 a.C., o meio-oeste era uma paisagem encharcada, uma composição de peças recortadas de lagos, pântanos e fragmentos de floresta de espruce. Mas quando se intensificou o aquecimento global, surgiram novos padrões, e o meio-oeste começou a secar. Secas periódicas chegaram em 11.500 a.C., e foram exacerbadas pelo início do Jovem Dryas algumas centenas de anos depois. As árvores não mais conseguiam sobreviver nas áridas condições e foram substituídas por uma série de matos e ervas como a salva, ambrósia-americana e muitas plantas florescentes. Os mamíferos de pasto — mamutes, camelos, cavalos, bisões e vários outros — exploraram as novas pradarias, avidamente transformando-as numa Serengeti norte-americana. Os primeiros americanos teriam encarado essas manadas com a mesma reverência que hoje sentimos ao ver os animais selvagens, antílopes e zebras nas planícies africanas.
À medida que continuavam seu inexorável avanço para o sul, alguns dos primeiros americanos rumaram para a América Central e além, até os ambientes que logo se tornavam tropicais. Aquele era um mundo novo, exótico, em que sua capacidade de aprender sobre novas paisagens e novos recursos deve ter sido explorada ao extremo. As florestas tropicais haviam permanecido em grande parte intactas durante toda a grande glaciação de 20.000 a.C.; ao entrarem nelas, os primeiros americanos devem ter observado os hábitos alimentares dos veados c macacos, na tentativa de identificar quais folhas e bagas eram comestíveis e quais deviam ser evitadas. Ali teriam encontrado animais ainda mais fabulosos, entre eles o grande gliptodonte — a gigantesca criatura semelhante ao tatu que pastava ao longo das margens dos rios.
Os primeiros americanos devem ter sofrido muitas perdas em suas jornadas da Beríngia à América do Sul: exploradores afogados em enchentes e deslizamentos de lama repentinos, mortos por carnívoros e vítimas de novas doenças. É provável que algumas comunidades tenham ficado isoladas. Se biologicamente viáveis, podem ter desenvolvido sua própria língua, cultura e até marcadores genéticos. Talvez essa gente "perdida" tivesse tornado encontros-surpresa para novas gerações dos primeiros exploradores americanos, originados de novas dispersões do norte da Ásia. Algumas comunidades isoladas talvez tenham sido pequenas demais para sobreviver. Para elas, o futuro era sombrio — seus números reduzindo-se até a extinção final.
Em 11.500 a.C., os primeiros americanos se dispersaram por todas as Américas, desde a Terra do Fogo, no sul, até a Beríngia, no norte. Essa população provavelmente resultará de várias migrações, e já adquirira uma infinidade de línguas, mutações genéticas e tradições culturais. Cresceram os números humanos, que talvez fossem aumentados por novas ondas de imigrantes — ou pelo menos inflados pelo que David Meltzer descreve como gotas migratórias.
Num lugar desconhecido e por um motivo desconhecido, inventou-se a ponta Clovis. Isso com toda probabilidade ocorreu nas florestas do leste da América do Norte, onde se encontraram em maior abundância as pontas-de-lança. Com o novo conjunto de instrumentos Clovis e seus grandes números, as pessoas de repente se tornaram visíveis para os arqueólogos.
Ainda não está claro por que as pessoas começaram a fazer grandes pontas das melhores pedras que encontravam. É fácil imaginar que eram para caçar — algumas sem dúvida foram usadas dessa maneira. Mas as pontas Clovis podem igualmente ter sido facas para cortar material de plantas ou talvez fabricadas sobretudo para exibição social. A admirável rapidez com que se disseminaram por todo o continente, possivelmente mais como idéia que como objetos, atesta os estreitos laços entre comunidades que haviam sido essenciais para a sobrevivência quando terminou a era do gelo. Na verdade, os números, desenho e distribuição dessas pontas a mim me sugerem que eram usadas tanto para estabelecer laços sociais entre grupos quanto para adquirir comida da paisagem.
Cada grupo parece ter moldado a idéia em seu próprio e específico desenho, por isso há diversas variações sutis no tamanho, forma e estilo da ponta. Os arqueólogos deram a cada tipo um nome diferente: pontas Gainey em Ontário, pontas Suwanee na Flórida, pontas Goshen em Montana e assim por diante, em todo o continente. Seja qual for o motivo para a disseminação dessa tecnologia, uma vez presentes não precisamos mais falar dos evasivos primeiros americanos, mas nos referirmos aos povos Clovis.
Agora a exótica fauna norte-americana enfrentava um novo tipo de predador em potencial, armado com lanças de ponta de pedra, que caçava em grandes grupos, preparava emboscadas e montava armadilhas. Os mamutes, mastodontes e outros herbívoros gigantescos estavam certamente acostumados a predadores que tentavam levar seus filhotes: lobos, leões e tigres-de-dente-de-sabre. Vinham vivendo e co-evoluindo com esses carnívoros há milhões de anos, e tinham seus meios de defesa: manadas de grande dimensão, corpos enormes, presas letais, formações de grupo para proteger os padrões de movimento vulneráveis que lhes possibilitavam ficar fora do caminho dos carnívoros. Haveria tudo isso sido de alguma utilidade quando chegou um novo tipo de predador? Cujas lanças eram ainda mais mortais que os dentes do esmilodonte, cujas táticas de caça eram mais sofisticadas que as do lobo, e que tinha uma "arma" que as preguiças do chão, os mastodontes e até os esmilodontes jamais haviam enfrentado antes: um grande cérebro com o qual superar em astúcia sua presa.
Steven Mithen
O melhor da literatura para todos os gostos e idades


















