



Biblio VT

Series & Trilogias Literarias




Uns dizem que fui amaldiçoado, outros que ganhei uma nova vida fascinante. Eu ainda não tenho as respostas. Há noites em que desfruto de prazeres inimagináveis, há aquelas em que me desespero dentro de buracos imundos. Busco alguma luz, estou envolto em trevas. Clamo por um sinal de Deus, mas parece que Ele não me escuta. Algum dia já me ouviu? Restam somente dúvidas e silêncio. Porque, talvez, imagens na parede não sabem falar.
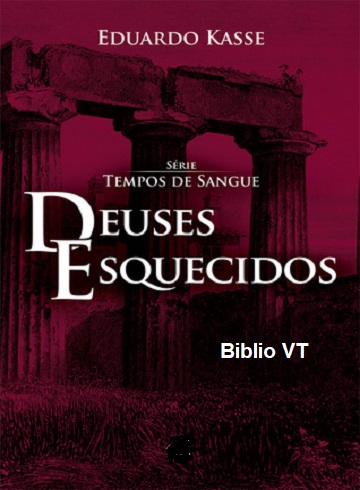
Capítulo I – Na beira do riacho
Meu nome é Alessio. E eu sou imortal.
Na verdade, não nasci assim, eu vim ao mundo como qualquer pessoa comum, um bebê banguela, faminto e barulhento.
Fui uma criança feliz, que gostava de perseguir as galinhas e fugir das surras com vara de marmelo depois de fazer alguma travessura junto com os meus amigos. Reuníamo-nos para nadar em quase todas as tardes de verão e, por muitas vezes, eu pegava a roupa das outras crianças e fugia, fazendo-as correrem peladas pelo vilarejo. Sabia que tomaria uns puxões de orelha dos monges, mas mesmo assim valia a pena.
Bons tempos... Bons amigos... Boa vida... Saudades.
Apesar de levado, sempre fui trabalhador e nunca desrespeitei os meus pais ou a Deus.
Cresci, enamorei-me, desiludi-me, amei e me ferrei como qualquer outro.
Casei com uma boa mulher, nenhuma beldade, mas uma mãe cuidadosa e companheira carinhosa. Eu não tinha do que reclamar, pois eu também não era um deus romano, como aqueles retratados nas pinturas antigas.
Meu cabelo loiro e encaracolado lembra a forragem que serve de cama para as cabras e meus olhos verdes são grandes demais, como se quisessem saltar para fora da cara, esta, aliás, cheia de marcas e cicatrizes. A minha barba espessa ajuda a mascarar um pouco essas imperfeições.
Porém, tenho um corpo forte e saudável, com bons músculos criados com muito custo por causa do trabalho no campo. Eu gostaria de ser um pouco mais alto, mas já me conformei.
Sou um homem – sempre penso se ainda posso me chamar de homem – com a aparência corriqueira, tal qual a de qualquer outro homem encontrado nas vilas da Itália ou mesmo em Roma, onde só estive depois que ganhei essa nova vida e de onde conto essa história.
Enfim, voltando ao meu passado longínquo, eu era uma pessoa sem nada em especial, o mais comum entre os comuns.
Mas, há duzentos e cinquenta anos, em 946, no primeiro ano de papado de Agapito II, tornei-me o que sou sem ter qualquer noção do que acontecera comigo.
Em um desses dias abafados e sem vento, eu havia trabalhado como um cavalo nas terras do senhor abade Nicola, arando o solo, retirando as ervas daninhas espinhentas, limpando os canais de irrigação. Nessa época gastávamos a maior parte do tempo na manutenção do vinhedo e no cuidado com as parreiras, pois as uvas preferem temperaturas mais amenas para crescer.
Minhas mãos calejadas já não sofriam mais com o cabo grosseiro da enxada e a minha pele parecia um couro curtido no Sol, mas as minhas costas e os meus pés reclamavam depois de mais de vinte e cinco anos de lida no campo.
Eu comecei cedo, com nove anos...
– Acorda Alessio – ouvi meu pai dizer, distante. – Que menino com o sono pesado. Acorda Alessio!
Senti a mão áspera dele tocar o meu rosto. Abri os olhos, ainda estava escuro, mas assim mesmo pulei da cama. Era um dia especial. Tomei meu desjejum rapidamente e calcei as botas.
Despedi-me da minha mãe, que me deu um beijo na testa, orgulhosa.
– Meu filhinho já é moço – disse toda contente.
Sorri e saí. Estava frio demais e a geada cobrira as plantas com uma fina camada branca. No caminho, esbarrávamos nas cabras sonolentas e sentíamos os pés duros por causa do frio.
– Os irmãos devem ter passado a noite acendendo carvões entre as parreiras – falou o meu pai.
– Para quê? – perguntei batendo os dentes.
– Para as uvas não congelarem e não estragarem – respondeu. – Vamos apertar o passo e ver se eles precisam de ajuda.
Trotamos pela trilha e isso ajudou a aquecer o corpo. Víamos os passarinhos encolhidos nos galhos e nenhum cão veio nos acompanhar. Deviam estar aconchegados ao lado das fogueiras ou escondidos nos montes de feno.
Não demorou muito e vimos a imponente construção de pedra se erguer à nossa frente, logo após uma pequena colina. Mesmo tendo visto-a por diversas vezes durante o dia, ela parecia muito assustadora na penumbra. Um gigante cinzento surgindo no horizonte.
– Vamos para dentro procurar o senhor abade Nicola – meu pai falou, segurando-me pela mão.
E quanto mais nos aproximávamos do mosteiro, mais eu ficava ressabiado.
Ele ficava num ponto alto, de onde dava para ver todo o vinhedo. As brasas acesas pareciam pequenas estrelas no chão. E os homens faziam uma cantoria para ajudar espantar o frio
Da terra vem nosso pão
Que aceitamos com devoção
Obrigado, nosso Senhor,
Pelo que nos é dado com amor.
Trabalhamos com Sol ou com chuva
Plantando e colhendo as uvas
Obrigado, nosso Senhor,
Pelo que nos é dado com amor.
– Veja Alessio, o senhor abade – falou meu pai apontando para frente.
Nicola estava com uma tocha na mão para iluminar um pouco o caminho e, principalmente, para espantar o frio. Ele parecia uma criança pequena sob a imensa porta de madeira do mosteiro. Naquele momento, pensei num monstro engolidor de homens como aquele das histórias que os mais velhos contavam para nos assustar.
Meu pai me apresentou ao abade e disse que já era tempo de eu ter uma profissão.
– Jovem Alessio – falou o abade. – Seja bem-vindo! Lidar com as uvas é um bom trabalho, mas também é um trabalho duro. Você está preparado?
Assenti com a cabeça.
– Ótimo, ótimo – o velho deu tapinhas no meu ombro.
Eu ainda tremia de frio e também pela ansiedade e um pouco de medo, é claro. Então, depois que o dia clareou, fui colocado com as outras crianças, muitas delas órfãs, outras filhos dos trabalhadores, para ajudar na colheita das uvas vistosas. O vinho do mosteiro era delicioso e muito apreciado. Mercadores vinham de todos os cantos para se abastecer do precioso líquido armazenado em pesados tonéis de carvalho.
Enchi mais de quinze cestos com as uvas, colhendo-as com destreza e agilidade, apesar de nunca ter feito isso. E, ao final do primeiro dia de labuta, eu estava orgulhoso e muito cansado.
Meu velho estava contente e até me comprou uma faca, feita com bom aço pelo seu amigo Gino, um dos ferreiros da nossa vila.
– É para lhe ajudar a colher as uvas – meu pai falou afagando meus cabelos encaracolados. – E para se defender, caso apareça algum lobo.
Eu gostava do velho. Durante os dois anos em que trabalhamos juntos, ele me ensinou muito sobre a terra, sobre manter a dignidade e trabalhar duro, mas infelizmente, ele se foi cedo, quando eu tinha apenas 11 anos.
Meu pai adorava comer, era o seu maior prazer e o que causou a sua morte.
Ele devorava vorazmente uma perdiz frita no azeite e servida junto com fatias grossas de pão preto recém-assado. O senhor abade, ao contrário de muitos donos de terras, era generoso com os seus trabalhadores e meu pai, um glutão inveterado, falava sobre a bondade do religioso, ao mesmo tempo em que mordiscava os restos de carne ainda grudados na coxinha da pequena ave.
– Aqui, graças ao bom Deus e ao nosso querido reverendo, não vivemos de sopas ralas de repolho e rabanetes azedos – sua boca estava gordurosa e a barba cheia de farelos. – Aqui comemos cenouras, coelhos gordos e peixes frescos... – ele iria continuar seu discurso quando soluçou e engoliu o osso, que se entalou firmemente na sua garganta.
Papai tossiu, ganiu tal qual um cão após receber um chute e se levantou da mesa desesperado. Seus olhos estavam vermelhos e sua boca se contorcia, formando uma careta estranha. Queria falar algo, mas somente grunhidos saiam junto com uma baba espumosa.
Pegou um pedaço de pão e engoliu-o com esforço, tentando empurrar o ossinho teimoso goela abaixo. Porém isso piorou a situação, pois se formou uma rolha na sua garganta.
Eu fiquei assustado, com a boca cheia de cenoura e sem qualquer reação. Até de mastigar eu me esqueci.
Os amigos do meu pai tentaram desengasgá-lo, mas não conseguiram. Ele resfolegava e dava murros na própria barriga, tentando expelir o osso intruso envolvido pela massa de pão, mas perdeu totalmente o ar e desabou no chão, estrebuchando com os olhos esbugalhados.
Meu pobre pai ficou roxo como as uvas que ele tanto amava. E na mão direita ele ainda segurava firmemente o restante da carcaça da perdiz.
Todos gostavam dele. E sua morte deixou os homens abalados. Seus amigos mais próximos choravam pelos cantos e enxugavam as lágrimas quando me viam, tentando esboçar sorrisos de compaixão.
O senhor abade rezou uma missa para a sua alma e depois enterramos seu corpo no pequeno cemitério do mosteiro.
Fiz minhas orações particulares e pedi para os anjos levarem sua alma para o céu. Chorei muito, mas no dia seguinte, as lágrimas já tinham secado, apesar da tristeza permanecer doída.
Acordei cedo, antes de o galo cantar, comi um pedaço de pão ressecado, um naco de toucinho defumado, lavei o rosto na bacia de água fria, peguei a minha faca e fui trabalhar.
E, a partir desse momento, eu me tornei o responsável pela casa, pelos meus dois irmãos e pela minha mãezinha doente, que Deus a tenha.
Deus... Pode parecer uma grande ironia um ser como eu falar sobre Ele, mas, de certa forma, eu acredito no poder divino. Entretanto, esse é um assunto só meu.
Enfim, voltando ao dia, ou melhor, a noite que mudou a minha existência, depois da longa e cansativa jornada de trabalho, fui ao riacho próximo ao meu casebre para ver se havia alguma rã presa nas armadilhas que eu tinha preparado.
Por sorte, três rãs gordas se debatiam, tentando fugir da prisão de junco. O jantar estava garantido.
Como ainda estava claro, tirei as sandálias surradas e coloquei os pés no riacho. A água fria estava boa e deixava meus dedos levemente dormentes, o que era gostoso. Sentei-me e relaxei.
O Sol já estava baixo no horizonte e uma brisa suave acariciava o rosto.
Devido ao cansaço e às sensações acolhedoras do vento e da água, adormeci recostado no tronco caído. Na verdade, mesmo que caísse neve ou chuva pesada, eu apagaria. Meus amigos já me pregaram diversas peças devido ao meu sono pesado.
Já passei por maus bocados.
– Você parece que está morto, homem – falou um dos camponeses cutucando-me com o cabo do rastelo. – E como ronca alto.
Dei um pulo e bati a minha cabeça na parede.
– Comi demais e tirei uma soneca – respondi esfregando o local da pancada. – Não conte ao abade, por favor. Na semana passada um dos monges me pegou dormindo durante a missa. E no Dia de Todos os Santos eu não fui à igreja, porque dormi em cima dos sacos de cevada. Ai que vergonha, minha mãezinha deve estar muito brava lá em cima – fiz o sinal da cruz. – Deus sabe que eu sou um bom cristão, só tenho muito sono. O que posso fazer?
– Pode deixar – respondeu Julio, ajudando-me a levantar. – Fico quieto, mas você me deve um bom pescado.
– Sim, sim! – respondi estalando os dedos grossos. – Vou pescar amanhã. Na verdade, vou ajudar o Pio a calafetar seu barquinho e já aproveito para arranjar um peixe bem grande.
– Pio vai estar fora? – sorriu com malícia. – Então acho que vou à sua casa me fartar novamente com as tetas opulentas da mulher dele – ele fez um movimento insinuante com as duas mãos.
Rimos por um tempo e voltamos para os nossos afazeres.
Acordei assustado. Sem saber direito onde eu estava. O céu jazia completamente escuro. Pela posição da Lua, devo ter dormido por um bom tempo. Não havia nuvens e as estrelas despontavam brilhantes.
– Puta merda, dormi demais! – xinguei e limpei as remelas dos olhos. – A pobre da minha mulher deve estar preocupada.
Sapos coaxavam logo adiante e uma coruja piou numa árvore do outro lado do riacho. Esfreguei os joelhos rijos, calcei as sandálias e, enquanto pegava as rãs na armadilha, senti um calafrio.
Instintivamente saquei a faca, a mesma que meu pai me deu no meu primeiro dia de trabalho. Apesar de tê-la amolado por inúmeras vezes, a lâmina continuava boa e o cabo de madeira escura não tinha perdido uma lasca sequer.
Olhei ao redor sem conseguir enxergar direito na escuridão. Apenas tive a impressão que vultos passavam de lá para cá à frente dos meus olhos.
– Quem está aí? – perguntei com a voz trêmula. – Se deseja me roubar, saiba que possuo apenas três rãs magras, sandálias gastas e uma faca velha.
Somente os sapos me responderam com sua cantoria desafinada.
Peguei as rãs e apertei o passo em direção ao meu casebre, olhando para os lados, ressabiado, tropeçando nas pedras e paus do caminho, enquanto rezava em voz alta para santo Epifânio de Pávia:
– Ai, meu santinho! Livre-me do perigo que eu faço uma boa doação para a igreja.
Comecei a correr, sempre olhando para trás e para os lados, mas um pouco antes de chegar em casa, bati a testa em um galho baixo.
Caí desnorteado, batendo as costas com força no chão. As rãs voaram para longe. Elas se livraram da morte. E, de certa forma, eu também, só que para sempre.
Um homem muito magro e alto, com cabelos louros compridos e barba rala me olhava. Mesmo com a luz parca da Lua, podia ver que sua pele era extremamente branca e seus olhos pareciam faiscar. Ele estava imóvel, como uma daquelas estátuas das igrejas. Sequer piscava.
Coloquei-me de pé, encarei-o e com muita dignidade falei a plenos pulmões:
– Pelo amor da sagrada Virgem Maria não me mata!
Ele deu uma gargalhada e dentes como os dos lobos se projetavam para fora da sua boca. Eu ia começar a berrar novamente quando ele se aproximou e ordenou: quieto.
A voz parecia falar diretamente na minha cabeça. Sem saber o porquê, assenti e permaneci em silêncio, como se estivesse sob o domínio de uma magia forte.
Todo o meu corpo formigava e um frio estranho percorria a minha espinha. Minhas pernas estavam trêmulas como os galhos ao vento.
Não tenho certeza, não me lembro direito, mas acho que me mijei naquele instante.
E sem qualquer explicação, rápido como um gato que dá o bote sobre um ratinho do campo, ele mordeu o meu pescoço suado. Senti como se tomasse uma ferroada de vespa e tentei me soltar, mas quanto mais eu me debatia, mais ele me segurava com força.
Doía demais. Ardia, queimava, sei lá... Era uma mistura de sensações muito ruins. Tentei gritar, mas só saiu um miado estranho da minha boca. Tentei pegar a faca, mas a minha mão não me obedecia.
Ouvi-o dando longos goles. Que maluco beberia o sangue de alguém? Tentei gritar novamente e dessa vez nenhum som saiu. Então comecei a ficar fraco. Minhas pernas bambearam e eu praticamente desfaleci. Só não caí no chão porque o homem me segurava.
Um cão nos olhou de longe e fugiu ganindo, assustado. Só não mais do que eu.
Puxei os seus cabelos, mas não consegui pará-lo.
Meus olhos ficaram pesados, a respiração difícil, entrecortada e um tipo de torpor dominou minha mente.
Então tudo começou a ficar preto, silencioso e o mundo se apagou.
.
.
.
– Ele está acordando...
– Traga um pano molhado, Lino. Vá ligeiro, menino!
– Alessio – disse uma voz feminina. – Acorde, homem!
Senti dedos frios tocarem meu corpo e depois de alguns tapas no rosto, abri os olhos. A luz da vela ao meu lado incomodou os meus olhos e minha boca estava amarga como quando se fica muito tempo sem comer. Ou melhor, como quando se vomita depois de encher a pança.
– Alessio, seu desgraçado – Balbina, minha mulher, estava com o rosto rechonchudo vermelho e as suas narinas se abriam e se fechavam vigorosamente, tais quais as de um touro prestes a atacar. – Você bebeu tanto que caiu igual a um bode velho aqui na porta de casa! Puta merda, que vergonha! Seu pescoço está todo machucado, homem.
Ela gesticulava muito e apertava as mãos como se quisesse fazer uma prece. Eu ainda estava tonto, então eu mais via sua boca fina se mover do que realmente compreendia o que ela dizia.
Tentei responder, mas fui impedido por um rosnado.
– Nosso vizinho Gerardo encontrou você com a boca manchada de vinho. E a sua calça estava toda mijada – falou se debruçando sobre mim, com as tetas grandes e flácidas quase roçando o meu rosto. – Que exemplo você quer dar para o nosso filho? O coitadinho ficou assustado.
– Balbina... – a minha voz saiu fraca e rouca.
Mas novamente fui interrompido por uma fúria intensa. Ela fazia movimentos frenéticos com as mãos e em certos momentos ela parecia que iria me enforcar com os dedos gordos. Lembrava uma galinha ciscando e batendo as asas.
Depois do encontro com o homem misterioso, não me lembrava de nada. O incidente já era completamente estranho, por isso resolvi permanecer em silêncio até o ódio e a saraivada de palavras passarem.
Apesar de tudo, minha mulher estava preocupada. Lino também estava assustado, mas se acalmou depois que me viu acordado.
Dei um sorriso sem jeito e ele retribuiu com outro. Faltavam-lhe os dois dentes da frente, que tinham caído há pouco tempo. Eu amava o moleque.
Meu estômago estava embrulhado e eu vomitei duas vezes, apenas um caldo esverdeado, pois estava com a barriga vazia. Minha mulher teimou novamente sobre uma bebedeira inexistente, mas achei melhor não retrucar. Na verdade, eu estava fraco demais e o meu pescoço latejava. Cada pulsação doía.
– Balbina, por quanto tempo eu fiquei desmaiado? – perguntei confuso.
– Logo o galo vai cantar e o sino vai anunciar as primas – Balbina respondeu brava.
– Nossa! Devo ter caído e batido a cabeça – disse.
– Também, quanto vinho você bebeu? – a mulher ralhou. – Deve ter esvaziado o estoque do abade.
Preferi não responder, pois uma discussão demoraria demais. Minha mulher adorava essas briguinhas e, apesar de não estar totalmente recuperado, eu precisava trabalhar. Minha cota de desculpas já se esgotara há muito tempo. O abade era um bom homem, mas até bons homens perdem a paciência.
Levantei-me e senti meu corpo ranger. Não sei se isso é possível, mas todos os ossos resmungavam ao mesmo tempo. Eu estava um bagaço.
– Vou trabalhar – disse. – Que o bom Deus faça essa dor de cabeça passar.
– Pelo menos coma algo, Alessio – Balbina insistiu. – Você precisa se curar dessa ressaca, senão não vai conseguir sequer segurar o podão. Ou pior, vai acabar cortando um pé, uma perna, sei lá.
Levantei o braço acenando, peguei uma das maçãs sobre a mesa e saí num passo arrastado e duro.
Balbina também pegou uma maçã e roeu-a furiosamente, engolindo inclusive o cabo. Não contente, pegou um aipo e comeu-o com a mesma voracidade.
– Lino, meu amorzinho – falou Balbina para o filho que observava tudo sem entender direito. – Fique longe da bebida, senão vai acabar igual ao seu pai. É só isso que eu lhe digo.
O garoto espirrou e voltou para a sua cama.
Capítulo II – Vinho amargo
Demorei o dobro do tempo que levo normalmente para chegar ao vinhedo do mosteiro. O céu estava nublado, mas o azul-escuro tornava-se cada vez mais claro. Meu pescoço doía como se tivesse sido tocado por brasas. E meu sangue parecia óleo fervente, como se rasgasse as minhas veias a cada batida do coração. Os dois furos estavam cicatrizados, entretanto a pele ao redor estava inchada e quente. Ainda não entendia como alguém morde outra pessoa e bebe o seu sangue. Minha cabeça estava confusa, mas havia a certeza de que o acontecido foi real.
– O filho da puta me mordeu e sumiu – pensei alto. – Tomara que ele tenha uma bela caganeira.
Andei com passos arrastados pela trilha poeirenta. Vomitei novamente e tive que parar por duas vezes para esvaziar as tripas. Um caldo escuro e fedorento jorrou de mim e formou uma poça no chão. Fraquejei e precisei me sentar um pouco. Tudo era muito estranho.
Retomei a minha caminhada, combalido e desanimado. A minha cabeça doía e por várias vezes meus olhos se embaçaram, formando vultos na minha frente.
Dei a maçã para um garotinho que brincava com uns pintinhos. Ele agradeceu e mordeu-a com voracidade. Não sei o porquê, mas o cheiro da fruta estava me enojando.
Os primeiros brilhos do dia dominavam o horizonte e as nuvens densas se incendiaram com uma luminosidade esbranquiçada.
Minha pele, principalmente a do rosto, começou a arder como se eu estivesse debaixo de Sol forte e os meus olhos lacrimejavam. Tive de mantê-los quase fechados.
Se eu soubesse que seria a última alvorada, o último toque dos primeiros raios de Sol na minha face, eu tentaria suportar um pouco mais, aguentar a dor e apreciar a beleza.
Olhei para as minhas mãos e elas estavam mais pálidas do que o normal, mais ossudas.
Apertei o passo e mesmo sem forças, corri o máximo que pude.
Quando cheguei à plantação, os homens já trabalhavam. Alguns amigos me cumprimentaram. Passei veloz por eles.
– De certo ele deve estar com uma bruta dor de barriga – ouvi um dizer, acompanhado pelo coro de “Alessio cagão”.
Continuei a minha carreira desvairada, estava sem fôlego e com o corpo em brasas. Entrei desesperado no mosteiro e nas sombras a dor aliviou.
Sentei-me em um canto escuro, recostando-me na rústica parede de pedra. O frio e a umidade eram reconfortantes.
– O que está acontecendo? – falei olhando as minhas mãos muito avermelhadas, com a pele descascando. – Meu bom Deus, o que está acontecendo comigo?
O desespero crescia dentro de mim, assim como o medo de algo muito ruim ter dominado o meu corpo.
Fechei os olhos, uni as mãos e sussurrei uma prece entrecortada pela minha respiração difícil. Não me lembro o que falei ou mesmo se falei algo. Talvez apenas murmurei sons ininteligíveis.
– Alessio, está tudo bem? – senti uma mão quente tocar a minha cabeça.
Abri os olhos úmidos e vi o abade Nicola me observando. Apesar do seu corpo recurvado pela idade e dos cabelos tonsurados totalmente brancos ele tinha os olhos joviais, fraternos até.
Ele me estendeu a mão pequena e trêmula e eu segurei-a com as duas mãos, prostrando-me de joelhos.
– Senhor abade... – falei soluçando, com os olhos semicerrados. – Estou passando muito mal. Estou com muito medo...
– Calma filho – respondeu com a voz grossa, mas serena. – Venha, vamos para a enfermaria. Lá descobriremos o que você tem.
Eu me levantei com dificuldade e segui o velho abade. O longo corredor tinha várias janelas e eu desviava da luminosidade esgueirando-me pelas paredes como um rato se esconde do gato.
Ver o brilho da luz me deixava angustiado, com uma sensação de perigo, com a lembrança do sofrimento recente, da dor latejante. Eu estava com medo da luz.
– Devo estar ficando louco – resmunguei para mim mesmo.
O abade não deve ter ouvido, pois simplesmente seguiu adiante.
Dobramos a direita e caminhamos por outro corredor, esse mais escuro e iluminado por archotes nas paredes. Minha pele já não ardia e eu pude abrir os olhos completamente. Vomitei mais uma vez um caldo azedo e amarelado antes de entrar no grande salão repleto de camas e com meia dúzia de enfermos. Havia janelas grandes e estava bem claro.
Instintivamente recuei para a penumbra do corredor. Meu corpo estava tomado por tremores e calafrios.
O abade percebeu o meu desconforto e perguntou:
– O que lhe incomoda?
– A luz... – falei sentindo um medo estranho.
– A luz? – indagou o abade soerguendo as sobrancelhas grossas.
– Sim, ela faz minha pele arder e meus olhos doerem como quando cai poeira neles – respondi. – Nunca senti isso antes. Começou nessa manhã. Ai meu bom Deus!
Comecei a chorar ruidosamente. E meu sofrimento ecoou nos corredores e no grande salão.
Nicola pensou por um tempo.
– Vê aquela cama ali no canto? – disse o abade apontando com o dedo trêmulo, interrompendo o meu pranto. – Aquela atrás da pilastra?
– Sim, vejo... – falei fungando e limpando o nariz na manga da camisa. – Ela parece não receber a luz das janelas.
– Isso mesmo, filho – disse o abade caminhando até a cama. – Venha.
Andei rapidamente e juro ter ouvido um chiado quando um raio de sol que escapara por entre as nuvens tocou a pele do meu braço. Foi uma dor imensa e algumas bolhas surgiram imediatamente.
Cheguei à cama com uma careta no rosto e me encolhi no canto logo atrás da grande pilastra redonda como um animal acuado. Um dos monges que cuidava dos doentes se aproximou e olhou espantado para o meu braço.
– Senhor abade, nunca vi o Sol causar queimaduras tão rapidamente – disse segurando o meu braço para observar melhor o ferimento. – Ainda mais em um camponês que até ontem lavorava a terra sob o calor do meio-dia.
E algo ainda mais estranho aconteceu. Enquanto os monges conversavam, as bolhas foram desaparecendo e não restou sequer uma vermelhidão.
– Umberto, meu amigo, você já viu algo assim? – indagou o abade absorto.
– Nunca – respondeu o monge prontamente. – Em mais de 20 anos lidando com os doentes, nunca vi queimaduras surgirem e desaparecerem tão rapidamente.
– Será obra do diabo? – perguntou Nicola, segurando seu pequeno crucifixo de prata pendurado no pescoço.
Instintivamente fiz o sinal da cruz.
– Antes de qualquer explicação, vou consultar o frei Vittore, que tem mais experiência. E também os livros na biblioteca. – disse ainda segurando o meu braço. – Mas vamos rezar. Nunca é demais pedir ajuda aos santos.
– Alessio – disse o abade com a voz firme. – Descanse. Logo lhe trarão comida. Mas, por enquanto, recupere suas forças e reze, meu filho, reze com toda a sua fé.
– E o trabalho no vinhedo? – perguntei aflito. – E a minha família?
– Não se preocupe, apenas descanse. Não adianta querer trabalhar desse jeito, homem – falou o velho senhor. – E eu mando avisar a sua mulher. Apenas descanse.
Ele se afastou com passos curtos e apressados.
Eu não sentia mais dor, mas assim mesmo meu espírito estava destruído. Pensei na noite anterior, no que aconteceu, no homem branco de olhos avermelhados. Lembrei-me dos seus dentes parecidos com as presas dos lobos e em como ele me mordeu o pescoço.
Lembrei-me exatamente de como ele bebeu o meu sangue, da dor e de como enfraqueci até desmaiar.
E nada fazia sentido.
Vomitei novamente. Um caldo amarelo-claro saiu em três golfadas curtas. Sentia que meu estômago queria sair pela boca e as minhas costelas doíam a cada inspiração.
Eu estava exausto, apesar de não ter pegado na enxada. Dormitei por um tempo, tendo pesadelos estranhos com homens que bebiam sangue e viravam pó sob o Sol. Vi a minha pele bronzeada tornando-se cada vez mais branca e as carnes minguando até evidenciar os ossos e as veias. E o tempo pareceu parar para mim. As pessoas envelheciam, as árvores secavam e os animais morriam ao meu redor, mas eu continuava igual. E quando acordei, não sabia onde estava. Demorei uns instantes para reconhecer o mosteiro.
Os archotes estavam acesos. Olhei pelo lado da pilastra. Parecia o final do entardecer lá fora.
Então, o cochilo, na verdade, durou muito tempo.
Um doente gemia numa cama adiante e outro tossia e escarrava em um balde. Ouvi os murmúrios das orações e dos cânticos. Deviam ser as vésperas.
Tentei me levantar cambaleei.
Sentei-me na cama.
Estava zonzo.
Meu corpo todo formigava.
Havia ao meu lado uma mesinha com um pedaço de pão, nozes e um pouco de vinho.
Um dos monges se aproximou com uma bacia de água.
Colocou a mão na minha testa.
– Você está gelado...
Pus a mão sob a camisa e senti o meu peito frio, como o dos mortos.
– Por favor, tire a roupa – pediu com a voz rouca, quase inaudível. – Precisamos limpar seu corpo.
– Ficar pelado? – falei sem jeito.
– Sim, tire as roupas agora – disse o monge. – Você não é o primeiro e nem será o último a ficar assim.
Obedeci, ele molhou o pano na bacia e limpou o meu corpo. A água fria ajudou a revigorar as minhas forças e o cheiro das ervas misturadas nela acalmou meu espírito. Ele esfregou bastante, pois queria melhorar a circulação do sangue.
Depois da limpeza, deitei na cama e ele me cobriu com um lençol fino.
– Coma algo – o monge falou antes de se afastar. – Se puder, beba uns goles de vinho. E, se esse mal-estar não passar, faremos uma sangria em você.
Sangria.
Não sei por que, mas essa palavra aguçou algo no meu estômago parecido com uma fome, mas ao mesmo tempo diferente. Senti a boca seca e a garganta raspava.
Peguei o copo com vinho e dei um longo gole. Cuspi logo em seguida e vomitei o restante com uma golfada violenta.
– O vinho está horrível – resmunguei. – Como tendo o melhor vinho da região, eles servem essa porcaria aos doentes? Colocaram vinho acre no meu copo.
Cheirei o copo e o odor frutado era delicioso, como sempre fora. Estranho. Um vinho ruim tinha um aroma ruim.
Molhei a boca novamente e o mesmo sabor ácido envolveu a minha língua. Cuspi.
– Tomara que este pão esteja melhor. – falei ao rasgar um naco com as mãos.
Coloquei o pedaço na boca e senti asco. Aquela massa seca e quente me enojou. E pela terceira vez, cuspi com raiva.
– Como podem dar comida estragada aos doentes – falei mais alto dessa vez. – Querem que a gente morra. Eu vou para a minha casa!
Coloquei as minhas roupas e andei batendo os pés pelo salão.
– Não seja ingrato, Alessio – falou um homem numa cama perto da porta.
Olhei para o infeliz, pronto para retrucar. Era um dos trabalhadores que perdera três dedos do pé esquerdo com uma enxadada mal dada anteontem.
– Iacopo, não o vi quando cheguei. – falei parando ao seu lado.
– Percebi que você estava muito estranho – respondeu. – Parecia que tinha acabado de ver uma assombração.
– Não vou negar – assenti. – Aconteceram umas coisas muito esquisitas mesmo. Por que me chamou de ingrato?
– Porque eu vi você reclamando da comida e do vinho – Iacopo falou me apontando o dedo. – A comida pode ser pouca e o vinho controlado, mas são muito bons. O pão está fresco e muito saboroso.
– Então me trouxeram comida feita no mês passado, homem – respondi resignado. – Você sabe que eu não sou de reclamar. Já comi diversas gororobas nessa vida.
– Prove do meu vinho – falou Iacopo agitado.
– Não, não quero – respondi. – As minhas tripas estão dando nós. Na verdade, acho que poderiam me trazer o mel mais doce e eu o acharia ruim. Meu estômago está uma bosta. E minha cabeça dói como se estivesse sendo martelada.
– Você é quem sabe...
– Até mais, Iacopo – falei com um aceno.
Eu já estava me afastando, quando reparei no seu pé, enrolado em bandagens manchadas de vermelho. O cheiro pungente do sangue impregnou minhas narinas e eu comecei a salivar. E tive a impressão que os meus caninos ficaram maiores e mais pontiagudos.
– Como está esse pé? – perguntei ao estancar com o coração acelerado.
– Só sobraram dois dedos – o homem respondeu balançando a cabeça. – Vou mancar pelo resto da vida. Isso é, se eu conseguir andar novamente.
Meus olhos se fixaram no pé e, de repente, a sede ficou mais aguda e o meu estômago se contorceu.
– E ainda sangra? – perguntei sem saber bem o porquê.
– Sai um pouco – Iacopo respondeu. – Mas o frei Fortunato sempre troca os curativos.
Aproximei-me do pé do ferido com os olhos argutos. O cheiro do sangue foi ficando cada vez mais forte. E me atraía como uma flor atrai a uma abelha.
– Iacopo, posso ver como ficou? – perguntei ansioso.
– Para que, homem? – inquiriu espantado.
– Só por curiosidade... – respondi já desenrolando as bandagens sem muito cuidado.
– Ei, pare com isso! – esbravejou.
Antes que ele tivesse qualquer reação, mordi seu pé com força, sentindo as carnes parcas sendo perfuradas pelos meus dentes. Um pouco de sangue escorreu pela minha língua e esse sim era delicioso, ao contrário do vinho.
Iacopo tentou puxar a perna, mas eu segurei-a com firmeza, cravando as minhas unhas, que estavam maiores do que eu me lembrava, na pele dele.
Ele gritou. Então frei Fortunato apareceu correndo e me empurrou com força.
Soltei o pé do meu amigo e logo o monge se aproximou, com dedo em riste, bufando.
– O que você está fazendo, homem? – vociferou. – Por que você mordeu o pé do Iacopo? Em nome de Deus, você ficou louco?
As veias da testa e do pescoço magro dele estavam saltadas e eu podia sentir claramente cada pulsação. Tum dum, tum dum, tum dum.
Com um movimento muito rápido, abracei-o com força e cravei os dentes no seu pescoço. O sangue jorrou garganta abaixo, quente, espesso, magnífico. Dei longos goles e um prazer nunca sentido antes me dominou. Era como se eu gozasse com todo o meu corpo.
Fortunato socava as minhas costas e puxava o meu cabelo, arrancando tufos, contudo, a dor era ínfima perto da sensação maravilhosa que me envolvia.
Os doentes me olhavam espantados e Iacopo estava imóvel, boquiaberto como se paralisado pelo medo.
Não sei o que aconteceu comigo. Não sei que animal eu me tornei, mas eu não conseguia parar de sugar. E bebi fartamente até o coração do pobre monge acelerar e parar abruptamente.
Soltei seu corpo. Fortunato desabou no chão como um saco de grãos, com um baque seco. Limpei a boca na manga da camisa. Estava cheio, saciado e feliz.
Arrotei.
E percebi o abade e frei Umberto me observando incrédulos.
Então veio o remorso.
A tristeza e a dor.
Mas não tive tempo de remoer esses sentimentos. Apenas corri, passei por eles como o vento e corri para fora do mosteiro. Corri como nunca correra antes. Embrenhei-me por entre as parreiras e continuei correndo.
E parei somente quando avistei a minha casa.
– Fortunato está morto – disse Umberto tomando o pulso do monge. – Morto!
O abade Nicola olhava para o corpo, todavia o seu rosto não demonstrava nenhuma expressão, como se ele estivesse totalmente perdido em seus pensamentos.
Alguns doentes choravam desesperados. Iacopo deixou-se cair na cama e fechou os olhos. Seu corpo tomou uma posição fetal e assim ele permaneceu. O sangue escorria do seu pé e pingava ritmado no chão de pedra.
Outros monges vieram esbaforidos e ficaram chocados com o que viram.
– Senhor abade o que faremos? – Umberto perguntou assustado. – Tivemos um assassinato aqui.
O abade não respondeu. Permaneceu em silêncio.
– Reverendo... – Umberto chamou novamente.
– Encontre-me nos meus aposentos daqui a pouco – o abade falou ainda olhando para o corpo. – E traga o irmão Vittore.
Ele se virou e saiu da enfermaria sem mais explicações.
– Por favor, irmãos, preparem o corpo do pobre Fortunato para o seu sepultamento – falou Umberto com pesar. – Vade in pace, frater meus.
– O que eu fiz? – falei me recostando em uma árvore. – Que merda eu fiz?
Eu não sentia qualquer dor e o vigor retornara ao meu corpo. Minha pele estava aquecida e as carnes não estavam tão fundas. De alguma forma, o sangue me fez muito bem. Até o meu espírito estava mais calmo e minha mente mais alerta. A morte do monge me trouxe vida. E beber seu sangue me trouxe uma certa paz.
Mas como?
Os sons da noite vinham claros aos meus ouvidos e eu podia localizar facilmente o ratinho que se alimentava de algum grão na moita à minha esquerda. Aliás, eu estava enxergando como se fosse dia.
– O que está acontecendo? – exasperei-me. – Meu bom Deus, o que está acontecendo?
Ouvi a porta da minha casa ranger e Balbina apareceu segurando uma vela de sebo. Ela olhou ao redor e a princípio não me viu.
Então me aproximei lentamente.
Balbina se assustou, mas logo veio apressada na minha direção.
– Homem de Deus – disse me abraçando. – Vieram me avisar que você estava muito doente e que passaria a noite se recuperando no mosteiro.
– É verdade...
Antes de me deixar responder ela continuou com sua fala acelerada:
– Então não foi por causa de uma bebedeira. Ai, ai... Eu o julguei mal! Também, quem poderia imaginar... Você estava desmaiado, com a boca manchada de vinho.
– É isso, mulher – falei dando um soco na palma da minha mão. – Não era vinho. O filho da puta colocou sangue na minha boca!
– Sangue? – Balbina fez uma careta. – Que sangue? Que filho da puta? Do que você está falando, cazzo?
Relutei um pouco, mas contei toda a história daquela noite. Na verdade, contei o que eu me lembrava. Falei também sobre o que aconteceu no mosteiro e o que fiz com o pobre Iacopo e com Fortunato, o monge.
Ela me olhava boquiaberta e por incrível que pareça, conseguiu ficar quieta, apenas escutando o relato.
– Você matou um monge? – perguntou incrédula. – Você vai ser executado.
– Eu sei, mulher... – falei cabisbaixo. – Mas não vou ser pego. Ainda não vou me entregar.
– Como não? – Balbina se empertigou – Eles devem estar atrás de você. Devem ter chamado o meirinho e os beleguins.
– Sim... – falei após uma longa inspiração. – Por isso vou partir. Preciso de respostas. E será mais seguro para você e para o nosso filho.
– Alessio...
Antes que ela protestasse, dei-lhe um beijo na testa. E corri.
Corri sem destino e com muita dor no coração. Queria ter visto novamente o rosto esperto do meu filho. Contudo, o pobrezinho sofreria. Balbina era uma mulher forte e boa mãe. Ela conseguiria arrumar as coisas da melhor maneira possível.
Por enquanto eu precisava sumir. Precisava pensar e tentar descobrir alguma coisa.
Então continuei correndo, passando pelos vilarejos e campos como um vulto na escuridão. E, depois de muito tempo, parei exausto na borda de uma floresta. Lembro-me dos mais velhos dizendo que ela era assombrada.
“Quando cai a escuridão, esconde-se em casa o bom cristão. Porque detrás dos arbustos pode vir um grande susto!”. O velho carpinteiro Giuseppe, que vivia em uma cabana mais ao leste da borda da floresta, falava quando vinha até a vila com a sua carroça cheia de móveis. Eu ficava apavorado.
Entretanto, os monstros e demônios não fariam mal para um semelhante. A Lua começava a baixar no céu. Logo amanheceria e eu não queria passar novamente pela dor e pelo sofrimento causados pelo Sol.
Entrei na floresta, desafiando qualquer mal que vivesse lá. Mas, por precaução, fiz o sinal da cruz três vezes, cuspi no chão e toquei as bolas.
Caminhei entre as grandes árvores e admirei os carvalhos, as faias e as castanheiras imponentes. O cheiro de terra úmida era agradável.
Podia ouvir os animais correrem e um riacho logo adiante. Andei por um tempo até encontrar uma formação rochosa, com uma pequena caverna no centro. Na verdade, era mais um buraco ladeado por pedras grandes.
Arrastei-me pelo vão e desci pelo estreito túnel escorregadio. Havia algumas centopeias e umas aranhas, mas elas não me fizeram mal, afastaram-se. Estava muito escuro, um breu total.
Ajeitei-me o melhor que pude e pensei em tudo que acontecera. E rezei com devoção para Deus, para a Virgem Maria e para todos os santos que eu conhecia. E parei somente quando a letargia do sono me envolveu completamente.
Capítulo III – A sede e a culpa
Abri os olhos. A minha cova improvisada estava completamente escura. Um cheiro úmido de musgos invadiu as minhas narinas. Estalei o pescoço e aprumei as costas. Minha boca estava seca e eu me sentia fraco.
Alguns insetos andavam sobre a minha pele, pinicando as minhas orelhas, tentando entrar nas minhas narinas.
Se tive algum sonho durante o sono, não me recordava. Entretanto, estava totalmente desperto.
Arrastei-me para fora do buraco. Arranhei meu braço num espinheiro, mas logo senti a pele repuxar e as marcas se curaram rapidamente.
Tudo era muito estranho.
Estiquei o corpo. Livrei-me dos insetos inoportunos. E senti a brisa fresca da noite me revigorar.
Meus ouvidos, agora muito sensíveis, captavam o farfalhar das folhas das árvores e o som de algum riacho. Caminhei em direção ao ruído e depois de algumas centenas de passos vi o pequeno curso-d’água abrir caminho entre as pedras e a mata. Ele brilhava como um veio de prata sob a Lua tímida.
Eu estava com sede. Minha garganta arranhava e a minha língua parecia estar ressecada.
Abaixei-me e coloquei as mãos na água fria. Lavei o rosto com vigor, como se quisesse despertar de algum encantamento.
Porém, eu já estava completamente acordado. Apenas não compreendia a minha nova existência.
Rezei uma prece rápida, pedindo para a Virgem Maria me livrar da doença ou do mal que dominou o meu corpo.
Fiz uma concha com as mãos e peguei um pouco da água fria. Ousei dar um gole. E o gosto repugnante me enojou. E a minha sede aumentou, tornando-se muito incômoda, irritante.
Nem depois de trabalhar na terra durante horas sob o Sol escaldante do verão eu senti tamanha sede. Era como se cada parte do meu corpo pedisse para beber. E eu precisava do rubro líquido. Eu ansiava por sangue.
– É pecado beber sangue – falei em voz alta, como se estivesse conversando comigo mesmo. – Como pode um homem beber o sangue de outro?
Repeti essa frase não sei por quantas vezes, como se tentasse convencer o meu corpo sedento de que isso era errado.
Sentei-me em uma pedra e apoiei os cotovelos sobre os joelhos. Apesar da sede incômoda, eu precisava pensar. Queria entender o que estava acontecendo.
E novamente toda a história da fatídica noite retornou à frente dos meus olhos com clareza absoluta. Lembrava-me de cada detalhe, do medo, da dor, do desespero e, por fim, do meu desmaio, quando tudo ficou negro.
Não sei por quanto tempo fiquei parado naquela posição, tampouco quantas vezes a história se repetiu na minha mente. Minha respiração estava lenta, quase parando. Aposto que sequer piscava.
Uma raposa apareceu do outro lado do riacho, desconfiada. Olhava para todos os lados antes de dar lambidas ligeiras na água.
Farejava o ar procurando algo e suas orelhas mudavam constantemente de posição, tentando descobrir a origem de qualquer pequeno ruído.
Era linda, vermelha...
Então, sem pensar ou hesitar, saltei da pedra e ataquei a pobrezinha. Ela tentou correr, mas consegui segurá-la pela cauda felpuda.
Ela se virou e mordeu a minha mão algumas vezes, mais pelo susto e medo do que por raiva. Senti seu pequeno coração disparar e vi suas pupilas dilatarem enquanto ela arfava e emitia sons doloridos.
Eu não queria fazer isso, mas o animal dentro de mim urrava por sangue. Ele foi mais forte que a minha vontade e me controlou.
Segurei o focinho da raposa com força e mordi o pescoço magro, furando o couro macio, peludo. O sangue escorreu e envolveu a minha língua, descendo vagarosamente pela garganta. A sensação foi boa, mas nada comparável à da noite anterior.
Consegui poucos goles antes da raposa morrer. A sede não foi saciada, apenas aplacada momentaneamente, como quando se come alguma fruta antes do almoço.
Repousei seu corpo amolecido ao lado do riacho e chorei. Odiava maltratar animais e prometi que nunca mais mataria um para saciar a minha sede.
Senti a minha pele um pouco mais quente, mas percebi a minha mão mais ossuda e magra que o normal. Eu precisava de sangue. Contudo, também não queria matar pessoas.
A sede ainda era incômoda e a vontade de me fartar ajudou-me a encontrar um caminho.
Assim, ocorreu-me uma ideia não muito correta, mas que não causaria tanta culpa. Talvez, na minha lógica distorcida pela sede, eu poderia fazer o bem mesmo fazendo o mal.
O abade estava sentado, lendo um manuscrito amarelado. A porta do seu aposento estava entreaberta. Era um local simples, com uma cama, um armário pequeno, uma mesa cheia de livros e três cadeiras.
Umberto bateu na porta com os nós dos dedos e, sem tirar os olhos do papel, Nicola pediu para ele entrar com um gesto da mão trêmula.
A porta rangeu ao ser empurrada pelo monge. Apoiado no seu ombro estava o irmão Vittore, que ofegava e coxeava da perna esquerda. Seus olhos tinham uma aparência leitosa.
– Sentem-se, meus irmãos – disse o abade apontando para duas cadeiras rústicas como a dele. – Eu já termino a minha leitura.
Todos ficaram em silêncio por um tempo, envoltos em seus pensamentos. Vittore tossia e mastigava umas ervas. Umberto balançava a perna freneticamente.
O fogo da vela quase se apagou algumas vezes devido à corrente de ar vinda da pequena janela.
– Pronto – falou o abade olhando para os irmãos. – Eu não podia interromper a leitura, é um documento importante enviado por dom Paulo, o senhor bispo. Perdoem-me pela demora.
Os monges fizeram mesuras com as cabeças e se aprumaram nas cadeiras.
– Queridos irmãos – Nicola fez uma longa pausa e acendeu outra vela. – Hoje tivemos um dia muito estranho aqui no mosteiro.
Os dois monges concordaram.
– Tudo ocorreu muito rapidamente e muitas dúvidas restaram – disse o abade. – Temo ser precipitado, mas acho que vimos uma manifestação do diabo ou de algum dos seus demônios.
Vittore franziu o cenho. Ele não presenciou o que aconteceu na enfermaria, contudo o irmão Umberto lhe contou os fatos da melhor maneira possível.
– Meu amigo Nicola... – falou Vittore com a voz rouca, cansada. – Estou muito velho e sei que não comemorarei a Páscoa com vocês...
– Não diga bobagens – interrompeu Nicola.
– Meu tempo está acabando – prosseguiu o velho monge com a fala pausada. – Mas tive uma vida boa e creio que Deus será piedoso comigo – ele pigarreou. – O que quero dizer é que durante todos esses anos de servidão e estudos nunca vi uma manifestação real do mal, do demônio, de Satanás, não importa a alcunha. Quando muitos culpavam o mal, eu entendia como loucura, maus humores, dores ou desespero. Muitas vezes vi pessoas com excesso de bílis amarela e isso as tornava muito agressivas, raivosas, como se estivessem possuídas. Bastava uma dieta a base de dente-de-leão e unguentos feitos com zimbro para que seu espírito e seu corpo se normalizassem. Então, prefiro pensar em alguma doença rara ou mesmo ainda desconhecida por nós do que em espíritos malignos.
– Concordo com Vittore – disse Umberto. – Acho que devemos pesquisar mais antes de tomarmos alguma providência mais drástica.
– O pobre Fortunato morreu – disse o abade exasperado. – Foi morto na frente dos enfermos. Iacopo está paralisado. Só choraminga e fica encolhido em sua cama. Muitos trabalhadores dizem que o demônio ronda o mosteiro. Acho que devemos informar o bispo ou mesmo Roma sobre o acontecido.
Ninguém respondeu de pronto. Apenas se entreolharam buscando a resposta nas suas mentes e nos seus corações.
– Acho que é cedo para isso, meu amigo – falou Vittore quebrando o silêncio. – Sugiro buscarmos mais respostas antes de tomarmos qualquer decisão. Não vamos incorrer no risco de sermos injustos com o Alessio – prosseguiu o velho monge. – Ele já deve estar muito assustado e confuso com tudo isso.
– Então, assim será. Vamos conversar com os monges e pedir silêncio – falou Umberto. – Com os trabalhadores eu mesmo falo amanhã. Servimos uma refeição caprichada, assamos um cordeiro e logo eles se esquecem desse assunto.
– E eu acho que precisamos encontrar Alessio... – disse o abade. – Apesar de que a minha intuição me diz que não será fácil.
– Concordo – disse Vittore. – Precisamos encontrar o homem para termos mais respostas.
– Logo depois das matinas irei ter com a mulher dele. – Nicola falou se levantando com certa dificuldade. – Vamos ver se ela sabe de alguma coisa.
Os dois monges assentiram e assim firmaram o pacto. E cada um retornou aos seus aposentos, porém naquela noite somente frei Vittore conseguiu dormir.
Saí da floresta, do meu esconderijo improvisado. Guardei na mente o caminho para a entrada da pequena caverna e rumei para o sul. Se tudo desse certo, se não houvesse nenhum imprevisto e pelo o que eu me recordava, eu não precisaria andar muito para aplacar a minha sede.
“Filho, sempre que vier para esses lados, mantenha-se o mais longe possível desse lugar e dessas pessoas...”. Lembrei-me das orientações do meu saudoso pai.
Mas agora os tempos eram outros. E eu já não era o mesmo.
Cruzei por algumas cabanas e casebres de lavradores e criadores de ovelha. A fumaça saía pelos tetos de palha enegrecida, deixando o ar com o cheiro acre.
Ouvi um bebê chorar e pensei nas suas tenras carnes sob os meus dentes. Senti o estômago se apertar.
– Ai meu Deus! – falei, chacoalhando a cabeça. – Que pensamento ruim!
Mas o pensamento que perdurava na minha mente era: delicioso.
Continuei o meu caminho pela trilha de cabras. Alguns cães latiam quando eu passava, mas eu me afastava rapidamente para não chamar a atenção das pessoas.
Aliás, eu andava muito rápido, quase como o trote de um cavalo. E não me cansava, transpunha as colinas facilmente, pulava por sobre troncos caídos sem qualquer esforço. E pela primeira vez desde o acontecimento, abri um sorriso.
A Lua encoberta pelas nuvens estava alta no céu quando cheguei ao meu destino. Saltei com facilidade sobre uma rocha para observar o local. Percebi que o meu corpo parecia mais leve e com um modesto impulso subi mais de cinco palmos. E pela segunda vez, sorri.
– Isso foi interessante – falei estalando os dedos da mão.
Olhei adiante, meus olhos viam tudo com perfeição. As construções, os caminhos, os animais quase adormecidos. A noite não parecia escura como antes do acontecimento.
O leprosário ficava dentro de uma paliçada precária, com muitos trechos caídos ou apodrecendo. Na verdade, não precisaria de qualquer barreira, pois as pessoas em sã consciência não entrariam lá.
Certamente o local deve ter sido algum entreposto comercial abandonado depois de algum saque ou batalha entre senhores de terras. De tempos em tempos isso acontecia.
Tudo parecia morto lá dentro, o fogo apagado nos casebres e o silêncio quase absoluto. A sede incomodou de novo. Eu não sabia se ao beber de um leproso eu me tornaria um. Entretanto, eu já estava condenado e não queria matar inocentes. Esses, pelo menos, já tinham sido castigados por Deus.
Não pensei muito nos meus atos. Na verdade, desde a noite em que fui atacado, eu não estava pensando direito. Minha cabeça parecia anuviada e eu estava confuso.
Tinha certeza apenas de que precisava beber.
Segui em direção ao portão torto, que estava apenas encostado. Entrei sorrateiramente. Uns porcos dormiam na lama e as galinhas se empoleiravam em um viveiro grande. Uma gata destrinchava um rato enquanto os três filhotes se engalfinhavam pelos melhores pedaços da parca carne.
A vida e a morte andam de mãos dadas. E, de certa forma, a vida dependia da morte.
Havia diversos casebres e um grande salão que provavelmente fora um mercado. Eu podia ouvir algumas pessoas roncarem e outras rezarem uma cantilena monótona numa pequena capela mais ao fundo da paliçada.
“... que as minhas chagas sejam a purificação dos meus pecados e, enquanto meu corpo apodrece, minha alma se fortalece para o Dia do Juízo Final...”
Não sei se elas acreditavam realmente nisso ou se era apenas uma forma de passar o tempo e esquecer, nem que por alguns momentos, da dor e do sofrimento.
Não me importava. Foram os seus erros que os condenaram, assim como eu devo ter feito algo muito ruim para virar esse monstro. Entretanto, as dúvidas deveriam ficar para depois. A sede incomodava.
Aproximei-me lentamente do casebre mais próximo. Pude ouvir a respiração pesada de pelo menos três pessoas. Ouvi ratos andando sobre as vigas do telhado e isso me impressionou.
– Caralho, até isso eu escuto – sussurrei.
Havia muitos buracos nas paredes de pedra, alguns tampados precariamente com tábuas, ou uma argamassa que se esfarelava ao toque. Não precisei de muito esforço para espiar as pessoas dormindo.
Olhei ao redor e a vila continuava morta.
Forcei um pouco a porta e essa se abriu facilmente com estalos secos da madeira. Uma das pessoas, uma mulher, bufou e se virou de lado sem abrir os olhos. As outras duas continuavam imóveis em um sono profundo.
O ar era pesado dentro do casebre. Fedia a mofo e podridão.
Uma ratazana gorda desfilou a menos de um palmo dos meus pés. Parecia não se incomodar com a minha presença. Foi calmamente para trás de um pote de barro.
Dei mais alguns passos suaves e parei do lado de um dos homens. Ele não tinha a orelha direita e faltavam-lhe três dedos na mão direita. Sua barba grisalha espessa escondia algumas pústulas que fediam a carniça.
Apesar disso, ele seria a minha refeição. Todo o leprosário seria a minha refeição nos próximos dias ou meses, por isso eu pretendia beber sem matar. Esse era o meu plano. O melhor que pude imaginar.
– Tomara que ele não acorde berrando – pensei enquanto me agachava e afastava a coberta imunda que cobria o seu pescoço, tão sujo quanto. Senti asco, mas estava resoluto.
Cravei os dentes e ele gemeu, mas continuou dormindo. Seu rosto se contorcia como se tivesse em um pesadelo. E estava, mas era real.
O sangue escorreu para a minha boca. Não tinha o gosto bom como o do irmão Fortunato, que Deus cuide da sua alma. Era um líquido ralo e fraco, como um caldo de repolho muito aguado.
Dei uns goles rápidos, afoitos na verdade e parei a minha refeição. Fiz o mesmo com o outro homem e com a mulher. Ela abriu os olhos, mas tapei-os novamente com a mão e ela voltou aos seus sonhos.
Não foi uma alimentação prazerosa por causa do sangue doente, mas eu estava saciado. Saí da cabana com a ratazana observando-me com seus olhos vermelhos ao lado do pote de barro. Encostei-a novamente e respirei o ar fresco da noite.
Estava feliz, afinal, tudo tinha dado certo. Mas da mesma forma que veio a euforia, veio um pouco de culpa, talvez piedade.
Prostrei-me de joelhos para rezar:
– Meu santo Ambrósio, se ainda pode me escutar, por favor, interceda por esses pobres que me serviram de alimento. Amém.
Senti-me mais aliviado. Pelo menos por enquanto.
– Medo da luz... – murmurou Umberto. – Queimaduras fortes sob o Sol... Morder as pessoas, beber sangue...
O monge folheava um grande tomo com capa de couro trabalhada com desenhos de plantas e animais e páginas muito bem conservadas.
As imagens foram reproduzidas com muito esmero, com cores, formas e tamanhos detalhados. Era um livro magnífico.
– Vômitos, paladar alterado... – disse coçando o queixo. – Alessio, Alessio, o que você tem? Que mal acometeu o seu corpo? Ou será o seu espírito?
Umberto ficou em silêncio envolto em seus pensamentos. Tamborilava a mesa com os dedos e mordia o lábio inferior freneticamente.
Procurava nas plantas mais raras alguma ligação com os sintomas ou indicação de cura para o mal desconhecido do pobre homem.
Estava tão concentrado que tomou um susto quando Vittore tocou o seu ombro.
– Descobriu algo meu amigo? – perguntou Vittore, encarando Umberto com os olhos opacos.
– Só sei que nada sei – falou esfregando os olhos avermelhados enquanto se recuperava do susto.
– Se me permite, gostaria de conversar com você – disse Vittore. – Venha, vamos caminhar pelo jardim. Esse velho precisa esticar os músculos enrijecidos e de um pouco de Sol.
Os dois sairam da biblioteca e andaram pelo corredor até o jardim bem cuidado que ficava no fundo do mosteiro. Cumprimentaram os irmãos que varriam o chão e cuidavam das plantas. Borboletas voavam de flor em flor e pequenos pardais comiam farelos de pão jogados nos canteiros.
Raízes, ervas, plantas medicinais, tudo o que era usado para a cura ou alívio do sofrimento dos doentes vinha de lá. Era um local de muita paz e harmonia.
– É interessante com as plantas são parecidas – disse Umberto segurando no braço do velho amigo. – Se você não ficar atento, pode temperar a comida com alguma folhagem venenosa ou usar um tempero inócuo para fazer um remédio.
– Isso mesmo... – Vittore interrompeu a fala para pigarrear. – Assim como muitos males do corpo e da mente são confundidos com males do espírito.
– Exatamente – respondeu Umberto. – E nesse dilema nos encontramos agora. Alessio sofre de uma doença ou de uma possessão?
– Apesar de ter passado a maior parte da minha vida nesse mosteiro, meu amigo, prefiro recorrer primeiro à ciência. – falou Vittore mansamente.
– Então vamos por esse caminho – respondeu Umberto. – Dentro do seu conhecimento e experiência, há alguma doença parecida com os males de Alessio?
– Porphyria – falou Vittore.
– Hum... – Umberto coçou o nariz. – Talvez... Talvez... Pensei nessa doença, mas não estou certo...
– Você me contou que ele vomitou algumas vezes, que bebeu sangue e que tinha medo da luz – explanou o velho monge. – Esses são sintomas que coincidem com os morbi indicia.
– Sim, concordo – assentiu o monge. – Mas resta uma lacuna importantíssima: isso não explica a pele dele queimar sob o Sol, como se tivesse sendo tocada por brasa. E ainda mais – falou com os olhos ávidos – o impressionante foi acontecer a cura completa no instante seguinte.
– Foi tão rápido assim? – indagou Vittore.
– Juro pela sagrada cruz – respondeu Umberto. – Havia bolhas e queimaduras na pele, parecidas com aquelas feitas por óleo fervente. E num piscar de olhos, elas sumiram sem restar uma vermelhidão sequer. O braço dele estava intacto e a pele lisa como antes.
– Acredito em você, meu amigo – falou o monge com o semblante sereno. – É que precisamos pensar em tudo e todos os detalhes, mesmo os mais insignificantes, podem ajudar a resolver o mistério.
– Se um dia conseguirmos resolvê-lo... – retrucou Umberto cabisbaixo.
– Tenha fé – disse Vittore olhando para o céu com os olhos opacos, como se buscasse alguma resposta ou ao menos uma inspiração divina. – Tenha fé e não perca as esperanças.
– Nesse momento a esperança é só o que nos resta – disse o frade.
O sino tocou anunciando as sextas. Logo serviriam a refeição.
O estômago de Umberto roncou e ele percebeu que não comera nada desde o dia anterior.
Pegou no braço do amigo e os dois monges seguiram o trajeto em silêncio, pois havia muitas incertezas em suas mentes e o dilema estava muito longe de ser resolvido.
Capítulo IV – Sofrimento
Trinta e quatro adultos, doze homens e vinte e duas mulheres. Também nove crianças. Na verdade, oito, pois o bebê morreu pouco tempo antes de eu despertar. Não pude provar da sua carne macia e rosada. Na verdade, não sei se teria estômago para isso.
Essa era a comunidade do leprosário. De tempos em tempos algum frade andarilho vinha fazer pregações, mas não passava muito tempo junto aos doentes. Desses eu nunca bebi, pois se mantinham firmes em suas vigílias.
Eu sabia o nome de todos os doentes. Michele, Bernardo, Agostina, o pequeno Donato que acabara de partir dessa vida... Eles eram como se fossem da minha família, porque há mais de quatro meses eu me alimentava deles, convivia com eles, mesmo que escondido nas sombras ou somente velando seu sono. Conhecia cada ronco, cada riso, apesar desses serem muito raros, sabia segredos e compartilhava o sofrimento deles.
Muitas vezes rezei por eles, rezei com eles e pedi misericórdia a Deus e aos santos, mas acho que eles não me escutavam mais. Acho que nunca me escutaram realmente.
Eu reprimia a vontade de participar das conversas, dos jogos de dados ou mesmo das pregações na pequena igreja. Precisava permanecer oculto, solitário.
A minha sobrevivência dependia disso, dessa discrição. Apenas alguns goles em cada enfermo. Nada que saciasse a sede. Bebia apenas para me manter vivo. Eu deveria ser imune à doença, pois continuava saudável e a cada dia, ou melhor, a cada noite, eu ficava mais forte. Meus sentidos estavam se desenvolvendo bem. Eu ouvia como uma lebre, farejava como um cão e enxergava como um gato.
Ao contrário de antes, agora eu levava uma vida regrada e comedida.
Somente uma vez eu matei um garoto. As pessoas o chamavam de Miúdo. Ele era órfão e foi deixado no leprosário por um mercador há uns dois meses.
– Encontrei-o caído na estrada – disse o homem rude que partiu sem qualquer outra explicação.
A doença já tinha apodrecido seus órgãos e ele vivia tendo convulsões e dores horríveis. Passou uma semana junto aos doentes, sofrendo, gritando, arrancando os cabelos.
E em uma noite de domingo ele se levantou da cama, trincando os dentes de dor.
Saiu do leprosário e cambaleou gemendo até o bosque.
Tirou do bolso uma cruz feita com gravetos e amarrada com palha e colocou sobre uma pedra.
– Por favor, Deus, acabe com a minha dor e me mate – balbuciou tremendo muito. – Eu não aguento mais.
Aproximei-me dele e ele me olhou com os olhos vermelhos. Faltava-lhe o nariz e pedaços do queixo.
Ele esticou os braços.
Abracei-o e peguei-o no colo.
Ele começou a convulsionar. Tremia e revirava os olhos nas órbitas. Tinha febre e suava.
Hesitei um pouco, mas mordi o seu pescoço ossudo e suguei.
Os tremores pararam, sua respiração parou.
E ele morreu nos meus braços.
E, enfim, ele pode descansar.
Fiz uma cova para ele no bosque. E coloquei sobre a terra a pequena cruz.
Talvez, Deus tivesse misericórdia desse pequeno.
E eu rezei para ajudar a sua alma a encontrar o caminho.
Foi uma morte dolorida, mas depois de um tempo convenci-me que tinha feito o bem e ajudado o Miúdo.
E assim o tempo foi passando.
Em algumas noites, depois de me alimentar, eu cuidava da pequena horta. Quando cheguei ao leprosário, ela produzia muito pouco. Agora, as cenouras, as couves, as vagens, as cebolas e as abóboras estavam viçosas. Os doentes acreditavam que essas benfeitorias eram um milagre.
E eu ficava feliz por eles.
Era uma forma de agradecer pelo meu sustento.
De vez em quando eu corria até a minha pequena casa e observava de longe Balbina e o meu filho. Tinha vontade de abraçá-los, de falar com eles, mas ainda não era o momento. Eles estavam mais seguros longe de mim.
Era uma rotina monótona. Às vezes eu dormia no meu refúgio na floresta, outras eu me arrastava para debaixo das tábuas soltas em um canto atrás do altar da pequena igreja. Algum animal havia feito o buraco, um cachorro talvez, para esconder seus ossos, eu apenas o alarguei, entretanto, ele continuava desconfortável e úmido.
Aliás, os cães eram meus amigos, meus únicos companheiros. Eu brincava de atirar galhos e eles buscavam alegres. Nas noites mornas corríamos pelos campos e plantações. Quando eu apertava o passo, nem o mais veloz deles me alcançava. E de tempos em tempos eu trazia da floresta alguns coelhos e ratos do mato para eles. Devoravam tudo em um piscar-d’olhos. E depois ficavam durante a noite toda roendo os ossos.
Eu realmente amava os animais e estava cada vez mais parecido com um deles. Um predador noturno, sorrateiro e arredio.
Minhas roupas estavam em frangalhos, mas eu não sentia frio ou calor. O clima parecia não me afetar tanto. Se alguém me encontrasse vagando pela noite, certamente acharia que se tratava de uma alma do outro mundo.
E na verdade, eu me sentia assim.
Sentia não pertencer mais ao mundo, digamos, normal.
Enfim, foram quatro meses esgueirando-me pelas sombras, em completo silêncio, como um vulto, apenas bebendo dos leprosos e impregnando a minha pele com o cheiro da doença deles. Quatro meses de sofreguidão e tristeza. E de uma sede não saciada, apenas amainada.
Por muitas vezes eu chorei, em outras não consegui segurar o grito. E as pessoas confinadas em seus lares devem ter se benzido ao ouvir meus urros.
A dor crescia e algo apertava no meu peito como se quisesse me sufocar.
Porém, a rotina foi quebrada em uma noite chuvosa, depois que voltei a experimentar o sangue delicioso de uma pessoa sadia, imensamente mais forte e excitante do que o dos meus amigos decrépitos. Não sou de falar mal daquilo que me sustentou, mas é a simples verdade.
Eu tinha acabado de despertar. A água da chuva escorria para dentro da pequena caverna, meu lar sob a terra. Na madrugada passada, resolvi voltar ao meu refúgio secreto, um pouco antes do amanhecer. A claridade da alvorada chegou a ofuscar os meus olhos e fazer a minha pele arder. Joguei-me buraco adentro antes da dor ficar insuportável.
Estava irritadiço, enjoado da mesmice, dos mesmos sangues acrimoniosos, do fedor e da solidão. Pretendia rumar para outros lugares, para outra vila ou quem sabe para Roma, ideia, aliás, que martelava na minha cabeça. Mas sempre fui acomodado e mantive essa personalidade mesmo depois do acontecido. E já fazia algumas noites que eu ensaiava a minha partida.
Eu estava encharcado, com o meu ânimo destroçado.
Praguejei contra Deus. E depois pedi perdão para a Virgem Maria pela blasfêmia.
Arrastei-me para fora da cova como uma minhoca na lama. A chuva castigava e os raios cortavam o céu.
Uma família de tordos se aninhava em um galho sob uma densa folhagem para se proteger do aguaceiro e do vento.
Eu queria fazer a mesma coisa e encontrar um lugar para me proteger, mas a sede foi mais forte. Ela sempre é. Resignado, saí da floresta e caminhei rumo ao leprosário, imaginando como seria bom beber o sangue de uma jovem forte.
Acho que o pensamento e a vontade foram intensos demais e uma moça, nua, cruzou o meu caminho, correndo trôpega em direção à floresta. Ela gritava e chorava, como se tivesse apavorada.
No seu encalço, vi um homem, mais velho, avançando com um pedaço de madeira na mão.
Não sei o que estava acontecendo, mas odiava homens que batiam em mulheres. Isso não era coisa de um cristão. Bom, até era, mas em outras circunstâncias que não vêm ao caso agora.
Aproximei-me dele com facilidade, sem precisar me esforçar muito. Ele arfava enquanto corria. Segurei seu braço com força e ele estancou.
– Me solta, seu vagabundo – vociferou.
– Por que está perseguindo aquela moça? – perguntei.
– Não é problema seu – rosnou tentando se livrar da minha pegada.
O homem puxava o braço vigorosamente e eu não o soltava. Foi muito fácil prendê-lo. Seus olhos se inflamaram e ele tentou me acertar com o pau. Seria um golpe certeiro na testa. Desviei para o lado, sem soltar o seu braço.
Ele xingou e levantou a arma improvisada sobre a cabeça, preparando um novo ataque. Não esperei e soquei-o na barriga com a mão esquerda. Foi uma pancada seca e precisa. Senti suas carnes envolverem o meu punho.
Ele soltou o ar e arqueou gemendo de dor. Caiu de joelhos na lama. Soltei o seu braço e ele desabou de lado, com as mãos na barriga e completamente sem fôlego. Seu rosto estava vermelho e as veias do seu pescoço estavam saltadas. Mesmo sob a chuva forte, eu podia perceber as pulsações. Tum dum, Tum dum, Tum dum.
Ajoelhei-me ao seu lado e sem hesitar, cravei os dentes no pescoço molhado. O sangue esguichou, escorrendo quente pela minha boca, pelo meu pescoço, até chegar ao meu peito. Não queria desperdiçar o precioso líquido, então, abocanhei melhor e suguei com avidez.
Ele ainda gemia de dor devido ao soco. Acho que nem sentiu a mordida, pois não reagiu ou tentou me afastar.
O sangue vertia abundante das perfurações. Fartei-me como nunca. E eu senti o meu corpo estremecer. Eu me alimentei com um sorriso nos lábios.
O infeliz morreu instantes depois de eu parar de beber.
Agora eu estava aquecido, forte e feliz. O sangue saudável me animou, como se algo se acendesse no meu espírito. Poderia voar se tentasse.
Meu corpo ganhou um novo vigor e eu não sentia qualquer culpa. Acabara de matar um desgraçado que iria espancar uma garota. Não sei se ela era inocente, mas era bonita. E para mim, isso bastava.
Tirei as roupas do morto, que apesar de simples, estavam em melhor estado do que os farrapos que me cobriam. Elas fediam a álcool e suor, mas eu não me importava, qualquer cheiro era mais agradável do que o ranço do leprosário.
Retornei para a floresta, tentando seguir o rastro da moça. Ouvia o pranto dela, baixinho e sentia seu cheiro, mas esse estava disperso por causa da chuva.
Deixei meus novos instintos me guiarem e logo os sons do choro e dos soluços se intensificaram. Ela não devia estar distante. Se eu não tivesse a visão apurada, seria difícil me locomover na floresta, pois a escuridão abraçava tudo.
Encontrei-a desnorteada, tateando as árvores e tropeçando nos galhos caídos. Sua nudez era deliciosa e sua pele estava arrepiada devido ao frio. Os bicos intumescidos dos pequenos seios e os leves tremores do seu corpo esguio me excitaram. Carnes rosadas e macias. Pelos fartos. Sangue jovem e fresco. Ah, o que eu não daria para lamber esses bicos e chupá-los até ficarem vermelhos e inchados. Eu queria me alimentar deles como um bebê faminto e empanturrar-me até ficar cheio.
Desejei-a imensamente.
A imagem de Balbina, volumosa e com o rosto rechonchudo, irritado, veio-me à mente. E toda lascívia se desfez, murchou.
Eu era um homem casado e seria pecado desejar outra mulher.
Mas, eu ainda era um homem? Pensei.
E querer beber dela era um desejo carnal, sensual ou uma vontade diferente, como quando olhamos uma maçã vermelhinha no pé e salivamos?
Ah, foda-se – pensei
Se fosse pecado, seria mais um para a minha lista, pois mesmo depois de fartar-me com o homem, tive sede.
Uma sede insidiosa.
E difícil de controlar.
Um dia depois da morte de Fortunato, quatro meses antes.
Umberto comia sua refeição sem qualquer vontade. Os ovos cozidos e as vagens sequer foram tocados. Vittore por outro lado, bebia com satisfação seu caldo de carne. Colocava pedaços de pão na boca e os umedecia para poder engoli-los com mais facilidade, afinal, poucos dentes restaram-lhe. E estes estavam fracos ou quase podres.
O abade Nicola aproximou-se e sentou-se na frente de Umberto. Eles trocaram mesuras, mas nada disseram. Continuaram em silêncio, envoltos nas suas preocupações e dúvidas.
E assim ficaram por um bom tempo.
Aos poucos os outros monges começaram a deixar o refeitório. Colocavam os restos de comida em baldes que depois seriam jogados aos pobres e aos mendigos. E estes brigariam com os porcos pelos melhores pedaços.
Quando o grande salão estava praticamente vazio, Nicola ofereceu alguns figos secos para Umberto e Vittore, que aceitaram de bom grado.
– Meus amigos – disse o abade. – Vocês podem ficar um pouco mais? Havia muitos irmãos ao nosso redor e eu não queria falar perto deles. Já temos desconfianças demais.
– Sábia decisão – falou o ancião piscando seus olhos leitosos.
– Mais tarde enterraremos Fortunato – prosseguiu o abade. – Os ritos de purificação do seu corpo e da sua alma já foram realizados pelo frei Gerardo. Fiz questão que tudo acontecesse sem alarde, pois não quero que essa história se espalhe mais que o necessário.
– E os enfermos que presenciaram tudo? E o Iacopo, que teve o pé mordido? – indagou Umberto. – Eles não vão ficar calados.
– Boatos, vamos tratar tudo como boatos – respondeu o abade. – É o que podemos fazer no momento. Vamos tentar amenizar os fatos. Devemos ser duros para mantermos o controle. Devemos ser mais rígidos na disciplina e se precisar, ameaçaremos com a excomunhão.
– E duvido que Iacopo fale novamente – Vittore falou convicto. – Antes de lhe procurar, Umberto, estive na enfermaria. O pobre está com a cabeça atrapalhada, diz coisas sem sentido e fica encolhido na sua cama. Acho que o trauma foi irreversível.
– Deus det vobis pacem – murmurou o velho abade.
– E alguma notícia de Alessio? – perguntou Umberto.
– Irmão Pietro foi até a sua casa e encontrou a mulher e o filho, mas ela jurou que não sabia do paradeiro do marido. – respondeu Nicola.
– Mais um mistério – falou Vittore com a boca cheia de figo seco.
– Infelizmente, meu amigo – disse Nicola com o ar cansado. – Vamos nos preparar para o enterro de Fortunato e antes das vésperas conversamos novamente.
– Até lá, reverendo – respondeu Umberto levantando-se da mesa e jogando quase toda a sua comida no balde.
Vittore permaneceu sentado. Devorava com gosto os figos deixados pelos dois monges. Seu espírito e sua fome pareciam ser inabaláveis.
O choro agora não passava de um resmungo baixinho, entrecortado, por causa dos tremores de frio. A chuva castigava e a pobre moça sofria.
Eu a observava de perto, oculto pelas sombras da floresta. Não podia chegar subitamente para não espantá-la. Era tão linda e frágil.
Estava tão assustada e vulnerável...
Deliciei-me um pouco mais com a visão do seu corpo nu. A pele lisa e limpa, os lábios grossos e os pelos fartos. Depois de tanto sofrimento e carnes pútridas no leprosário aquilo era revigorante. O sangue forte do homem também contribuiu muito para o meu ânimo.
Eu não queria mais a penúria de todos esses meses, estava farto daquilo. E nesse instante, devorando-a com o olhar, tinha certeza que tudo podia ser diferente.
Eu já tinha pagado a minha penitência.
Eu já tinha carregado a minha coroa de espinhos.
Ela sentou-se sobre uma pedra, tateando ao redor. A pobrezinha tremia.
Hesitei por um instante, mas a ansiedade crescia no meu peito.
– Ei... – falei sem me aproximar.
Ela se levantou assustada, tentando cobrir sua nudez com as mãos. O bico do seio esquerdo escapulia por entre os dedos, rebelde, e isso me alvoroçou ainda mais.
– Eu não vou lhe fazer mal – continuei dando um passo para frente.
– Quem está aí? – balbuciou assustada. – Vá embora!
Ela tentou correr, mas tropeçou e tombou no chão encharcado. A moça engatinhava, tentando se afastar, mas sua fuga era impedida pelos galhos caídos e pelos arbustos. As nádegas balançando bem à frente dos meus olhos.
– Calma – falei com ternura. – Só quero lhe ajudar.
– Eu não vejo nada – gritou. – Você deve ser um espírito ou algum caçador sem-vergonha. Saia daqui, pelo amor de Sant’Agata!
Ela pegou um toco pequeno e o atirou na minha direção, mas errou por muito. Atirou uma pedra e essa passou zunindo ao lado do meu ouvido direito. Então, ao pegar um galho, furou a mão nos espinhos.
Soltou um gritinho agudo e começou a chorar novamente. O aroma do sangue me instigou e sem dizer nada, aproximei-me mais e toquei seu ombro trêmulo.
A garota se assustou e estapeou o ar. Comecei a me divertir com aquilo. Como era gostoso sentir algo bom. Parecia que as paredes densas que cobriam o meu espírito tinham se esfacelado e agora eu estava livre novamente. Vivo novamente.
A doença dos leprosos não tinha afetado a minha carne, mas drenava a minha felicidade. Agora isso era passado. E eu iria enterrá-lo para sempre.
Gargalhei.
Um novo grito ecoou pelo ar, instantes antes de um raio cortar o céu e o trovão ribombar potente. Com o clarão ela me viu. E ficou paralisada de medo.
Pobrezinha...
– Escute – falei agachando-me perto dela. – Não sou um espírito, tampouco um caçador. Sou apenas um amigo que deseja lhe ajudar.
Ela relutou um pouco, contudo, vencida pelo medo, cansaço e frio, ela se entregou. Ajudei-a a se levantar. Tirei a minha nova camisa e cobri a nudez da moça. Ela estava mais calma, mais dócil e me permitiu conduzi-la para fora da floresta. Foi vencida pelo medo e exaustão.
– Qual é o seu nome? – perguntei.
– Faustina – respondeu sem jeito.
– É um belo nome. Eu me chamo Alessio e a vi fugindo daquele homem. Você está bem?
– Sim, estou... – falou cerrando os dentes. – Aquele filho da puta não conseguiu me pegar.
– É, ele não vai mais lhe fazer mal.
– Como sabe? Ele deve estar atrás de mim pela floresta – seu semblante era um misto de ódio e medo.
Eu peguei no seu braço e guiei-a em direção ao corpo do homem, ele estava próximo, estatelado no chão, branco pela falta de sangue.
Faustina parou ao lado do morto e observou-o em silêncio. Então o chutou com força nas costelas e cuspiu na sua direção.
– Melhor assim – disse com raiva. – Você teve o fim que mereceu...
Ela me olhou profundamente e me agradeceu com um abraço forte.
– Sua mão está sangrando – falei sem tirar os olhos do líquido vermelho.
– Furei-a nos espinhos – respondeu com uma careta.
Segurei o seu pulso delicadamente e beijei vagarosamente o ferimento com a boca entreaberta.
Ela me olhou com desconfiança quando lambi o seu delicioso sangue, porém manteve o silêncio.
A chuva perdeu força e agora não passava de um chuvisco. Faustina me convidou para ir até a sua casa. E, ao chegar lá, o fogo ainda queimava, deixando a temperatura agradável.
Ela tirou a camisa encharcada e vestiu um vestido surrado. Virei de costas para deixá-la mais a vontade, apesar de conseguir delinear na mente cada curva, cada detalhe do seu corpo esguio.
Ela me entregou uma camisa seca, provavelmente daquele homem que me alimentou. Vesti-a e, como a outra, fedia a suor e álcool.
Faustina pegou uma panela sobre as brasas e verteu o caldo ralo em um prato. Ofereceu-me a parca refeição. Recusei educadamente. Ela tomava goles e mais goles, talvez nem tanto pela fome, mas para se acalmar.
– Aquele desgraçado era o meu pai – falou com os olhos azuis fulgurando. – Desgraçado! – gritou e começou a chorar.
Abracei-a e senti seu corpo quente, suas veias pulsando. Tive de controlar o desejo de mordê-la, não foi fácil, mas como eu já havia bebido bastante, não foi algo dolorido.
Na verdade, nem sei por que decidi me conter. Era uma estranha, uma garota que na floresta me instigou muito e eu ainda a desejava.
O destino é mesmo um mistério. Resolvi apenas escutar a sua história.
Conversamos pela noite adentro. Faustina me contou que o pai sempre se comportou de maneira estranha com ela, acariciando-a demais, beijando-a demais. No começo, quando era criança, ela gostava disso, mas conforme foi amadurecendo, percebeu que esse comportamento não era normal. E começou a se afastar.
Sua mãe também desconfiava e sempre estava ao seu lado para protegê-la, mas ela morreu na semana passada, vomitando jorros esverdeados e tossindo muito. E malpassado o luto, seu pai começou a ficar mais abusado e violento.
E nessa noite, depois de beber muito, tentou agarrá-la a força. Dizia que uma menina de quatorze anos já estava pronta para conhecer como era a vida de verdade. Faustina conseguiu se desvencilhar enquanto ele soltava os cordões do calção e fugiu para a floresta. E o restante da história eu já sabia o desfecho.
Falamos sobre outras coisas, sobre colheitas e sobre as ovelhas e suas crias, então ela adormeceu de cansaço.
Fiquei ao seu lado, acariciando seus longos cabelos castanhos por um tempo. E, quando o azul-escuro do céu começou a ganhar vida, eu parti, em silêncio. Para uma nova vida, sem sofrimento ou culpa. Precisava aceitar ser quem eu me tornara.
Entendi que essa era a minha nova natureza.
E que se eu permanecia vivo era com a conivência de Deus. Ou do Diabo.
Não importava.
Eu não escolhi ser assim, não tomei nenhuma decisão. Esse fardo me foi imposto na noite do acontecimento.
Segui rumo à floresta com o espírito liberto.
E, depois daquela noite, nunca mais vi a doce menina.
Capítulo V – Uma nova vida
No enterro de frei Fortunato os sussurros formavam um zumbido agitado, tal qual o bater de asas em uma colmeia, enquanto olhares furtivos eram trocados sem qualquer pudor.
O abade Nicola estava irritado com essa falta de respeito, mas nada disse para não piorar a situação.
“Às vezes, ignorar é a melhor solução” – lembrou-se das palavras de Pio, seu antecessor como abade do mosteiro.
Umberto estava tenso e esfregava as mãos no rosto constantemente. Vittore mantinha-se calmo, muito calmo.
Havia mais de 30 monges presentes, também um punhado de trabalhadores e alguns curiosos. Mas nenhum familiar do morto, pois esses viviam em Viterbo e sequer tinham sido avisados da morte. Já havia um mensageiro a caminho, mas demoraria mais três ou quatro dias, dependendo das condições do tempo, para ele chegar até lá.
O rito foi breve, as orações foram feitas e logo todos retomaram suas atividades rotineiras, entretanto, o mistério perturbava a paz do mosteiro. E a linha do silêncio imposta pelo abade era frágil demais.
Nos corredores, no refeitório e mesmo durante as missas, os burburinhos eram constantes. Alguns trabalhadores começaram a espalhar boatos que o demônio tinha matado Fortunato e que ele rondava o mosteiro à noite.
Também falavam pelos cantos sobre o sumiço de Alessio. Uns diziam que ele tinha sido pego pelo coisa-ruim, outros que ele estava possuído e, quando escurecia, rondava as casas uivando e rosnando.
Uma velha jurou tê-lo visto quando saiu para pegar água no poço.
– Ele parecia um cachorrão, com os dentes salientes e um focinho comprido – falou com a mão no peito. – Eu fiz o sinal da cruz e saí correndo para dentro de casa. Fechei a porta e fiquei rezando para Nossa Senhora. Sei que depois disso as minhas galinhas não botaram mais.
Boatos são inevitáveis.
Boatos são contagiosos.
Boatos são perigosos.
Boatos sempre têm um fundo de verdade.
E durante aproximadamente quatro meses, enquanto Vittore e Umberto investigavam o acontecido, eles foram se intensificando, ao invés de diminuírem. O tempo não fez as pessoas se esquecerem, fê-las criarem histórias tão verdadeiras quanto a sua imaginação permitisse. E um clima denso pairava sobre os monges.
E o abade Nicola teve que tomar a sua decisão.
Depois da deliciosa noite com Faustina, dormi pela última vez na minha alcova na floresta. Estava contente e revigorado por causa do sangue do seu pai. Não queria mais saber de leprosos. Queria uma nova vida, mas algo me dizia que para poder prosseguir, eu deveria recuar um pouco e voltar ao mosteiro.
Será que haviam me esquecido?
Será que a minha mulher e o meu filho estavam bem? Gostaria de despedir-me direito. Gostaria de poder agradecer ao senhor abade por todos esses anos e tentar explicar as coisas, mas certamente ele não entenderia.
Na verdade, nem eu ainda entendia direito o acontecido.
Enfim...
Uma última olhada no mosteiro, na minha casinha e na minha família.
Eu precisava saber se tudo estava bem antes de partir para novos ares, para degustar novos sabores. Para encontrar respostas e um caminho.
Então, quando o dia findou e eu despertei, rumei de volta ao meu passado, não sem antes me alimentar de um pastor jovem que trazia as ovelhas de volta ao cercado.
E como foi bom beber de um jovem. O sangue fresco e quente!
Agradeci pelo alimento, fiz uma prece rápida para o jovem ser bem recebido pelos anjos e pelos santos e tranquei a porta do cercado. Já bastava a família perder o moço. Não precisava perder também as criações.
A vida humana tinha um certo valor, mas naqueles tempos, os animais valiam muito mais do que um pobre pastor.
Peguei seu corpo franzino e leve e carreguei-o até encontrar um aclive pedregoso. Atirei-o com força e ele bateu nas pedras uma dezena de vezes, antes de parar em uma posição estranha, tal qual a de uma marionete quando está largada com os fios soltos sobre a mesa.
As pessoas pensariam que ele caiu e se quebrou todo. Com alguma sorte, não perceberiam a mordida no seu pescoço.
Depois de caminhar por um bom tempo, vi a grande construção de pedra. O mosteiro surgia na minha frente, como um gigante adormecido, duro e até mesmo intimidador. Eu gostava desse lugar e nunca quis abandoná-lo. O acontecimento daquela noite me obrigou a isso.
Um momento tão rápido, mas tão vivo na minha memória apesar de já ter se passado quatro meses.
Tempo...
É estranho pensar nele depois de tantos anos, de tantas vidas de homens que sobrevivi. Agora, ele perdeu o significado. Passado, presente, futuro, não importa. Tudo está muito próximo, muito ligado. Não há pressa ou ansiedade. Não há urgência ou latência. Os meus dias, ou melhor, as minhas noites, passam em uma constante, às vezes monótonas, outras com alguma expectativa ou dilema. As datas não importam tanto, apenas as cito para manter o raciocínio mortal. Não sou o dono do tempo, mas desde o acontecimento, da minha transformação, eu simplesmente caminho ao seu lado. E isso basta...
O vinhedo estava deserto, exceto por alguns ratos aqui e acolá que roubavam as preciosas uvas. Os gatos dos monges deviam estar empanzinados, pois dormiam tranquilamente em cima dos barris e das carroças cheias de sacas de grãos.
Nunca mais eu trabalharia naquelas terras. E, apesar de ser uma rotina árdua, eu gostava muito de cuidar das parreiras e conversar com os meus amigos. Adorava ouvir as suas histórias e de rir das suas lorotas, como quando José disse que o seu porco estava tão gordo e tão grande que um mercador ofereceu a mão da sua filha em troca do bichão.
Bons tempos...
Subi facilmente em uma árvore e observei como o vinhedo era grande, sobrepujando as planícies e colinas e como as parreiras foram plantadas simetricamente, formando compridos corredores verdes.
Eu sentiria saudades.
Pulei do galho em que estava, despedi-me daquela plantação tão estimada e segui rumo ao mosteiro.
Não sei por que tive vontade de entrar novamente lá. Ou mesmo quem eu esperava encontrar. E se eu encontrasse alguém, como me apresentaria?
Eu não era mais o velho Alessio de sempre...
Estava confuso, mas algo me dizia para prosseguir.
Antes do acontecimento, nunca tive intuições, presságios ou mesmo essas vontades estranhas. Além do meu corpo, algo também mudara na minha cabeça.
O grande portão central estava fechado como de costume, mas depois de tantos anos trabalhando nessas terras, eu sabia de outras entradas, algumas portas escondidas deixadas abertas propositadamente para que as mulheres do vilarejo próximo pudessem vir prestar alguns favores aos monges em troca de comida, vinho ou mesmo algum presente interessante.
E foi por uma delas que entrei no mosteiro. Tudo estava morto e o silêncio só era interrompido por alguns roncos mais altos.
Passei pelo refeitório, pelo transepto e vi a grande cruz de madeira que ficava pendurada na parede. Sempre a achei magnífica, esculpida sem emendas de uma tora imensa de carvalho. Eu conheci o carpinteiro que a fez. Era um amigo do meu pai que sempre me dava um pedaço de queijo para comer quando íamos até a sua oficina.
Ajoelhei-me, rezei um Pai-nosso e me senti bem.
Olhar para aquela cruz sempre me deu paz.
Então segui em frente, mesmo sem saber para aonde ir.
Andei pelos corredores escuros até chegar à enfermaria. Os doentes dormiam. Alguns praticamente desmaiados por causa das ervas calmantes, outros em sonos mais agitados, agoniados até.
Grossas velas de sebo iluminavam parcamente o local e a luz da lua que entrava pelas janelas deixava as paredes e o chão com um tom azulado e pálido.
O cheiro pungente dos unguentos e de algumas feridas inflamadas veio forte às minhas narinas sensíveis. Assim como o som dos vermes devorando as carnes podres de uma lesão necrosada nas costas de um homem lembrava o farfalhar de folhas ao vento.
Caminhei despreocupado por entre as camas, entretanto, algo, ou melhor, alguém chamou a minha atenção.
O pobre Iacopo estava deitado no seu leito e me olhava com os olhos esbugalhados. Ele não se mexia e sequer piscava. Aproximei-me e ele continuava parado, exceto por alguns pequenos espasmos na sua bochecha direita.
Um filete de baba escorreu pelo canto da sua boca.
– Meu amigo... – falei com pesar. – Que merda eu fiz.
Ele virou a cabeça e continuou me encarando sem dizer nada, apenas com os espasmos mais intensos.
– Você me perdoa? – perguntei ao segurar a sua mão.
A boca dele começou a tremer e ele balbuciou. Aproximei-me e ele sussurrou algo ininteligível.
Então, coloquei a orelha perto da sua boca, para tentar compreender melhor o que ele dizia.
– Ale-lessio... – ele disse com a voz rouca.
– Sim, estou aqui, meu amigo – respondi com um sorriso.
– Alessio, se-seu – ele apertou a minha mão com mais força e tossiu antes de continuar. – Alessio, seu filho da puta! – vociferou de uma vez só.
Então ele mordeu a minha orelha com força. Uma dor aguda tomou conta do lado da minha cabeça. Tentei desvencilhar-me, mas eu estava preso. Soltei a sua mão e apertei o seu pescoço.
– Me solta, Iacopo! – falei segurando a sua garganta.
Mas ele não soltou e, então, apertei com mais força. Ele cravou as unhas no meu rosto e continuou com a mordida firme, como a de um cão raivoso.
Iacopo rosnava, grunhia e puxava meus cabelos com violência, até soltar um último chiado pela boca e morrer quando esmaguei a sua garganta. Não queria matá-lo, mas exagerei na força.
Livrei-me da sua boca ensanguentada. E só não perdi um pedaço da orelha, porque ele mais tremia do que cravava os dentes.
O ferimento sarou rapidamente e a dor sumiu. Entretanto, meu coração ficou pesado ao ver meu amigo morto, encarando-me com os olhos insuflados.
– Que Deus receba bem a sua alma – falei. – Porque a minha já está no inferno.
Cobri seu corpo inerte com o lençol e saí chorando da enfermaria. Por sorte, ninguém acordou.
Eu iria dar somente mais uma volta pelo mosteiro e partiria. Eu já tinha acabado o que começara e a alma do Iacopo poderia descansar, ao invés de ficar presa em sofrimento. Será que essa vontade de voltar tinha sido para isso?
Dúvidas...
A vida é repleta de incertezas. E só isso é certo.
Continuei o meu caminho. Pretendia sair pela outra porta que ficava no fundo do mosteiro. Porém, passos apressados no corredor por onde eu acabara de passar chamaram a minha atenção. Talvez, fosse um dos monges que eram designados como sentinelas.
– Será que alguém me viu? – pensei alto. – Será que me viu matando o Iacopo?
Se isso tivesse acontecido, certamente a pessoa já estaria indo avisar ao abade. E isso era ruim, pois eu não queria reavivar nenhuma história, tampouco queria alguém atrás de mim essa noite. Eu ainda pretendia me despedir de Balbina e do meu filho.
Segui o som dos passos com facilidade.
Podia ver uma leve luminosidade logo à frente. O brilho suave do fogo bruxuleava nas paredes de pedra.
Ouvi uma porta ser destrancada e fechada logo em seguida. Apertei o passo e cheguei a uma área do mosteiro que eu nunca havia estado antes. Era o corredor que dava para a adega nos subterrâneos.
Havia histórias de que os espíritos de monges mortos na construção do mosteiro protegiam a adega dos ladrões. Na verdade, sempre achei isso uma baboseira, mas nunca me arrisquei a descobrir a verdade.
Isso foi no passado. Quando eu era apenas um trabalhador crédulo e inseguro. Um cagão notável.
Entretanto, agora eu não tinha o que temer.
Mas, assim mesmo, fiz o sinal da cruz antes de abrir a porta com cuidado.
Ela rangeu.
Fiquei em silêncio tentando perceber algo, mas não ouvi passos, não ouvi nada.
Desci as escadas. O caminho era iluminado por archotes nas paredes. O ar estava estagnado e impregnado do cheiro característico da madeira e do vinho.
Ao fim da escadaria, abriu-se um corredor comprido e largo, repleto de barris, tonéis e jarros.
Era o tesouro do mosteiro. Eram as preciosidades que ajudei a fabricar com o suor do meu rosto. E que eu nunca mais poderia sentir o sabor, apreciar um gole sequer.
Apesar dos montes de teias de aranha no teto, havia pouca poeira no chão e sobre os barris, mostrando o zelo dos monges com a estocagem da bebida. Bispos, cardeais e nobres sempre vinham se abastecer e mercadores recebiam encomendas de muitos lugares da Itália.
Por um instante fechei os olhos e consegui me lembrar do sabor da bebida. Inspirei fundo o aroma inconfundível e sorri. Andei calmamente e a penumbra me envolveu.
Tudo estaria na completa escuridão se não fosse uma pequena chama logo adiante. Ela formava sombras bruxuleantes no teto abobadado.
Observei sem fazer qualquer ruído e o silêncio só foi interrompido pelo som de longos goles, com um belo arroto para terminar a melodia.
– Estava bom? – perguntei ao me aproximar.
– Puta que o pariu, que susto! – falou o monge ofegante. – Ai meu Deus, desculpe pela minha boca suja – disse olhando para o teto. – Isso não se faz. Assustar as pessoas! Aliás, quem é você?
– Não se lembra mais dos amigos, Lucio? – disse me agachando do seu lado. – Quantos jarros já bebeu hoje?
O monge cofiou a barba castanha, franziu o cenho, coçou a barriga rotunda, aproximou a vela do meu rosto e, enfim, abriu um sorriso largo.
– Alessio.
– Sou eu mesmo – respondi ajudando-o a se levantar.
– Pensei que você já estava do outro lado do mar, homem – disse ao me abraçar com força.
– E por que eu estaria?
– Por quê? Ora porque! Você mordeu o pé do... – coçou a testa. – Como era o nome dele mesmo?
– Iacopo – respondi.
– Isso, isso! Depois matou o frei Fortunato. E ainda roubou as cabras e desvirginou seis moças da vila!
– Os dois primeiros crimes eu confesso, mesmo sem ter total controle sobre mim naqueles momentos – falei olhando-o nos olhos. – Mas, roubar cabras e violar moças, isso eu não fiz.
– Acredito em você... – Lucio soluçou alto. – Mas as pessoas estão comentando e a cada dia surgem, hic, novos boatos.
– Por isso que pretendo ir embora para sempre – falei convicto.
– Então só vou pegar umas coisas lá em cima – disse Lucio ao andar cambaleante pelo corredor. – Eu encontro você perto do poço.
– O quê? Aonde você vai? – falei seguindo-o.
– Com você, hic, ué – falou gesticulando efusivamente. – Depois eu que sou o bêbado.
– Explique essa história direito, Lucio – falei segurando-o pelo braço. – Você entende que irei embora do mosteiro, da vila, da Itália, sei lá?
– Perfaeitamente – disse com a fala enrolada. – Por isso eu vou junto, hic. Eles vão me expulsar daqui de qualquer jeito. Vão me excomungar, prender, tudo isso e mais um pouco.
– O que você fez, meu amigo? – perguntei já sabendo a resposta.
– Bebi demais, roubei comida na cozinha, trepei com a mulher do signore Bruno, matei sem querer o gato do irmão Tito e vomitei no colo do irmão Pedro durante as orações das nonas de ontem – falou tentando contar nos dedos os seus erros. – Estou na merda, Alessio. Fiz muitas asneiras e eles vão me expulsar. Vão tirar lascas do meu couro com chicotadas.
Lucio desabou a chorar, berrando e batendo no rosto. E mesmo de onde estávamos, poderíamos ser descobertos por algum monge em vigília.
Tapei a sua boca e pedi para ele ficar em silêncio com um sinal. Ele balbuciou, soluçou, mas logo concordou com a cabeça e se acalmou.
– Você pode ir comigo – falei descobrindo a sua boca. – Até certo ponto pelo menos. Você não vai querer trilhar a minha jornada por muito tempo. Ainda mais que pretendo rumar para a velha cidade dos romanos.
– Nós vamos para Roma? Ah meu Deus. Por que isso está acontecendo comigo? Por quê? – ele berrou a plenos pulmões.
– Lamente-se depois, homem. Preciso que fique em silêncio e vá arrumar as suas coisas. Anda! – falei com o dedo em riste.
Ele deu um sorriso bonachão, como se já tivesse se esquecido do seu sofrimento, deu mais uns goles no vinho e correu trôpego pelo corredor. Encheu mais um jarro em um barril e sumiu escada acima.
Eu fiquei por mais um tempo. Pensando no que acontecera. Eu ainda queria falar com o abade Nicola, mas depois de todas as acusações que Lucio relatara, eu certamente sofreria alguma punição ou mesmo pagaria com a vida.
E eu não estava disposto a isso. Ainda não.
– Que bom que pôde vir – disse o abade cumprimentando-o. – Fez boa viagem?
– Sim, apesar de termos que parar por umas 15 vezes para frei Adolfo aliviar as tripas.
Nicola olhou inquirindo o monge, que corou no mesmo instante.
– Que vergonha – respondeu Adolfo, o despenseiro do mosteiro. – Não resisti aos panettones que estavam sendo vendidos na feira e comi demais. Sempre exagero quando vejo essas delícias. Que tentação do mal – fez o sinal da cruz. – E, se me dão licença, a minha barriga reclama e eu preciso sair com certa urgência... – falou já se afastando.
– Vá, vá – disse o abade, aliviando o semblante e fazendo força para conter o riso. – Perdoe-o, ele é um bom cristão, mas ainda tem que rezar muito para controlar a sua gula.
– Todos nós temos os nossos pecados, não é?
– Certamente... – respondeu o abade sem jeito. – Preparamos um quarto e o seu banho, se assim quiser. Vá, descanse um pouco e nos encontramos logo após as vésperas.
– Obrigado – ele assentiu com a cabeça e se afastou.
O abade Nicola, pensativo, saiu pela grande porta do mosteiro e começou a caminhar por entre as parreiras. O dia estava claro e o ar razoavelmente frio era agradável. Esticou os braços e girou o pescoço semirrígido devido à idade. Os ossos estalaram.
Seu corpo já se curvara e o vigor de outrora há muito se foi, mas sua mente permanecia perspicaz.
Todavia, ele estava incomodado, as dúvidas dos últimos meses eram um desafio.
Andou por um bom tempo, cumprimentando os trabalhadores atarefados, ouvindo problemas familiares e da alma. Distribuiu algumas bênçãos rápidas. Mas, desejava solidão, não queria ser o abade naquele momento, pois precisava contemplar seus pensamentos em silêncio.
Depois de muitos passos vagarosos, chegou à borda do vinhedo. Sentou-se em um tronco e respirou fundo.
Fez uma oração e pediu orientação a Deus e a São Pedro.
Respirou novamente.
E olhou para o lado.
Viu uma grande lagarta verde comer vorazmente uma folha. Ela mordia ritmadamente, serrilhando a borda suculenta. Então, de repente, um pássaro investiu veloz contra o inseto e pegou-o com o bico. Alçou voo e pousou numa árvore logo adiante, onde devorou com gosto a gorda refeição.
Essa era a ordem natural da vida.
Presas e predadores.
Algozes e vítimas.
E o pássaro poderia se transformar no jantar de uma raposa e essa de um caçador e, por fim, todos, folha, lagarta, pássaro, raposa e caçador seriam, cedo ou tarde, roídos pelos vermes.
Levantou-se.
Não sabia se isso era um presságio ou uma inspiração divina.
E essas ideias permaneceram na sua mente durante a longa caminhada de volta, sempre permeadas pela imagem de Alessio, seus dentes pontiagudos e sua boca ensanguentada.
Predador e presas.
E, sem fazer nenhum sentido, viu em sua mente uma imagem de vermes saindo pelos seus olhos.
Parou no meio do vinhedo.
Tirou de dentro do hábito um pedaço sujo e mal cortado de velino, que teve o texto anterior raspado às pressas. Algumas letras restaram, caprichosas, ao contrário da caligrafia arrastada e mal-escrita que fora feita por cima. E pela enésima vez leu a mensagem de poucas palavras.
Sentiu algo ruim no peito e uma gota fria de suor escorreu pelas suas costas enrugadas. Esfregou a fronte enrugada.
Dentes, olhos, sangue. Imagens entrecortadas e vívidas. Morte e maldição.
Vermes que roem a nossa carne.
E fartam-se no nosso sangue.
Restou-lhe fazer uma prece silenciosa para tentar espantar os maus pensamentos.
Todavia, esses eram teimosos demais.
Aguardei sentado sob um arbusto que ficava há uns passos da porta pela qual saí. Não iria esperar muito. Meu tempo – a ironia da ignorância – era muito precioso.
Mosquitos zuniam nos meus ouvidos e passavam perto demais das minhas narinas, mas pelo menos não me picavam.
Levantei-me.
Já iria tomar o caminho rumo à minha casa quando Lucio apareceu esbaforido.
– Deus do céu – falou resfolegando – Essas escadarias me matam.
– As escadarias ou os pedaços a mais de porco regados por goles longos de um bom vinho? – falei olhando para a sua barriga.
Ele fechou o cenho e bufou.
– Então você veio mesmo? – falei me divertindo com a cena.
– E eu sou homem de voltar atrás com a minha palavra? – resignou-se com o rosto vermelho. – Agora vamos logo. E se puder, me ajude com essas tralhas.
Lucio atirou para Alessio uma sacola grande pesada, cheia de bugigangas.
– Os odres de vinho eu levo – disse ajeitando a grande mochila nas costas. – Esses são preciosos demais. Tive de pegar emprestados uns na despensa e nas coisas dos outros irmãos.
Os dois caminharam vinhedo adentro e Lucio olhou para trás durante alguns instantes. Uma lágrima escorreu pela sua bochecha rechonchuda, misturando-se ao suor que salpicava o seu rosto, mas ele conseguiu conter o choro.
Suspirou e começou a assoviar uma canção triste.
Acompanhei-a cantarolando do meu jeito.
O mosteiro agora era uma parte do seu passado.
Do nosso passado.
Capítulo VI – Caminhos ocultos
Uma lâmina bem afiada, bem polida e oleada faz toda a diferença, pensou enquanto manejava a magnífica adaga.
A pérola incrustada no cabo reluzia. Era o único luxo que ele se permitia ter.
Afinal, era o seu instrumento de trabalho.
Por anos foi soldado e lutou muitas batalhas. Matou inimigos, perdeu amigos e quase estraçalhou a sua alma por causa das atrocidades da guerra. Estava perdido entre o sangue e a bebida. Mas encontrou a luz de Deus e, enquanto se recuperava dos ferimentos na carne em uma abadia, seu espírito também foi recomposto. Aprendeu a ler e depois de conhecer a Palavra decidiu seguir somente o verdadeiro Senhor.
Então deixou os castelos e as casernas para se abrigar na igreja. Trocou a cota de malha pelo hábito e lançou a espada e o escudo nas chamas. Restou-lhe somente a sua adaga, velha companheira, que agora era a materialização da vontade de Deus.
Ela ajudava a vencer as batalhas contra o maior mal dessa terra. E sob o seu fio, muitos impuros confessaram e tiveram a chance de ter a alma expurgada.
A essência de Deus estava presente naquele metal.
Era o que ele acreditava. Essa era a sua missão, o motivo pelo qual teve uma segunda chance. Ele fora um bom soldado, mas agora era excelente. Fazia o seu serviço com maestria e seus superiores reconheciam esse dom.
Ugo era o braço de ferro da Sagrada Igreja. A mão que punia para redimir. E ele sabia que nesse ofício também estava a sua redenção. A sua salvação.
Ele não conseguira dormir. Nunca conseguia em dias como esse.
Sua cabeça ficava tomada pela ansiedade, pela vontade de enfrentar o inimigo, não importa o quão forte ele fosse.
Foi para trabalhos como esse que ele fora ordenado. Essa era a sua função dentro da igreja. Ele era um soldado da fé.
Nisso estava a sua devoção e o seu espírito.
Essa era a sua vida e o que ele sabia fazer. Esse era o seu destino.
Despiu-se e delineou com a ponta do dedo as cicatrizes no peito, nos braços e nas coxas.
Ele fora forjado na dor. Sofrera para alcançar a redenção e sabia que precisava ajudar aos enfermos da alma a serem bem vistos novamente aos olhos de Deus.
E ele sabia que era o melhor nessa tarefa.
Lavou-se na grande tina de madeira. A água há muito tempo esfriara, mas ele não se importava, não gostava de conforto. Permitiu-se relaxar por um tempo, mesmo com os músculos contraídos pela água fria. Ficou imerso em suas orações.
Esfregou-se com uma bucha a fim de tirar todas as impurezas da viagem. Seria um dos poucos banhos que tomaria durante o ano. Queria começar a sua jornada com o corpo limpo.
A sua alma, acreditava, podia ser purificada por meio do seu trabalho.
A água da tina ficou cinzenta, depois caramelo, até se tornar marrom como as dos rios após a chuva.
Pegou um pequeno espelho de prata polida e aproveitou para fazer a barba. Apanhou uma pequena faca sobre a mesinha. Testou a lâmina nos pelos do braço. Perfeita. Contornou o queixo, as bochechas, o pescoço. Cortou-se ao lado do nariz em um momento de distração enquanto observava um corvo pousado na janela.
O sangue escorreu vagarosamente e tocou os seus lábios, quente.
O corvo encarou-o com seus olhos astutos, grasnou e voou para longe.
Com certeza era uma mensagem dos céus.
Limpou-se e o pano de linho maculou-se com o vermelho encarnado.
Lambeu a lâmina e sorriu.
Pois a caçada estava prestes a começar.
– Lucio, espere um pouco aqui fora – falei observando o meu casebre.
– Você é quem manda, Alessio – respondeu desabando sobre uma pedra. – Eu vou ficar aqui sentadinho comendo essas amoras que achamos no meio do caminho. Tem certeza que não quer umas?
– Não, não quero. Apenas fique aqui e em silêncio.
O gorducho peidou ruidosamente e o cão do Gerardo latiu.
Virei-me com os punhos cerrados.
– Em silêncio – ralhei.
Ele assentiu com a cabeça e enfiou um punhado de amoras na boca. Ainda parecia triste, mas seu semblante tenso se amenizou enquanto mastigava as frutinhas, algumas ainda verdes. Tinha conseguido colher uma panela cheia delas.
Não sei se o meu coração bateu mais forte – aliás, hoje tenho certeza que não –, mas eu queria muito encontrar minha mulher e o meu filho.
O fogo já estava quase apagado e Balbina roncava lá dentro. Tentei abrir a porta, mas essa estava prudentemente trancada.
– Balbina. Ei, Balbina! – chamei-a quase sussurrando.
Ela não me escutou e continuou a serrar madeira.
Bati na porta. Nada. Chamei mais alto.
Então ouvi a tranca sendo aberta. E meu filho Lino apareceu sonolento.
Abracei-o com força e beijei seu rosto inchado pelo sono.
Ele demorou um tempo para entender o que se passava, mas logo que percebeu, abriu um sorriso imenso.
– Papai! – falou me apertando com força.
– Que saudades, moleque. Não me lembrava de como você já está grande – falei sentindo o calor do seu corpo.
– Pai! – ele repetiu com o sorriso de orelha a orelha.
– Deus o abençoe e lhe mantenha forte – falei beijando-lhe a testa.
– Tenho trabalhado duro todos os dias, faça chuva ou faça Sol. Faço o mesmo que você fazia. Sou bom colhendo uvas – disse orgulhoso. – O senhor abade me ofereceu o trabalho porque eu sou um rapaz exemplar. Até me deu essa cruz de madeira de presente – tirou o cordão de couro debaixo da camisa surrada.
Era uma cruz simples, mas feita com uma bela madeira vermelha. E o melhor, mostrava que o abade gostava do meu filho.
– Eu criei um homem de respeito – falei observando-o
Ele corou.
– Eu senti muito a sua falta... Mas agora você voltou para nós – disse ele com os olhos lacrimosos. – Vai ficar com a gente? Preciso do senhor.
E, nesse instante, a dura realidade veio me assolar novamente e me atingiu como um soco no estômago.
– Vamos para dentro filho. Vamos acordar a sua mãe.
Lino era um bom menino. Depois de quatro gravidezes sem sucesso esse vingou.
Nasceu magricela e com uma tosse que nunca passava, mas com a ajuda das velhas da vila e com muitas orações, ele se desenvolveu e ficou esperto.
Agora já era quase um homem.
Balbina dormia pesadamente. Lino precisou cutucá-la umas três vezes para ela acordar.
– O papai está aqui – disse com os olhos radiantes.
– O que foi moleque – Balbina esbravejou. – Não vê que eu estou dormindo.
– Acorda!
Ela se sentou e esfregou os olhos. E quando me viu, gritou:
– Alessio! Você está vivo, homem de Deus.
Apenas sorri por causa da felicidade da minha mulher, que se levantou em um pulo e me deu um beijo.
– Obrigada minha Virgem Maria – disse se ajoelhando. – Obrigado por manter o Alessio a salvo. Por onde você andou, homem?
– Fiquei na floresta, depois no leprosário...
– No leprosário – falou assustada.
– Não se preocupe, Balbina, parece que sou imune a essa doença. Bebi o sangue dos doentes por meses e nada me aconteceu.
Nesse instante a minha mulher fez uma careta e olhou para o nosso filho. Esqueci-me que o pobre Lino não sabia de nada, pois estava dormindo quando a encontrei pela última vez.
– Sangue, papai? – indagou ressabiado. – Você bebeu sangue?
– Ah, Lino, meu garoto – desconversei. – No leprosário eles chamavam o vinho de sangue, pois ele representa o sangue de Jesus e eles rezavam para ele curá-los.
Lino torceu o nariz, mas nada perguntou, estava contente demais para perder tempo com dúvidas tolas.
Conversamos bastante sobre coisas do dia a dia, sobre as nossas cabras e a pequena horta. Lino me contou que os monges gostavam dele e que os outros trabalhadores sempre lhe ajudavam, apesar de olharem-no com pena ou até mesmo receio.
– Agora vá dormir, Lino – falei para o meu filho. – Sua mãe e eu vamos conversar um pouco lá fora.
– Até amanhã, papai – ele disse me abraçando.
Apenas sorri e lhe dei um beijo na testa. Eu sabia que não haveria amanhã.
Balbina e eu fomos para fora, vi que Lucio dormia tranquilamente recostado na sua mochila. Ela sequer o notou. Acho que a minha mulher não ia muito bem das vistas.
– Alessio... – hesitou. – Você descobriu algo sobre o seu problema?
– Bem, praticamente nada – respondi engolindo em seco. – Só que a cada dia eu estou mais forte, mais ágil e a minha saúde parece de ferro. O sangue que bebo revigora o meu espírito e o meu corpo.
– E você ainda se queima no Sol?
– Sim, e dói demais – lembrei-me das queimaduras. – A marca logo desaparece, mas o sofrimento é grande.
– E você não consegue comer nada?
– Nada – falei com pesar. – Nem pão ou carne. Nem sequer um gole de vinho ou água. Tenho vontade de vomitar e o gosto é horrível.
– E você precisa beber sangue todas as noites?
– Eu acho que aguentaria algumas noites sem beber, mas eu começo a ficar fraco, irritadiço e a sede aperta, machuca.
– E o que faremos? – perguntou aflita.
– Infelizmente terei que partir.
– Você vai embora? – exasperou-se.
– Sim. É perigoso demais eu ficar aqui – ponderei. – Há poucas pessoas nessa região e todas são conhecidas, então logo desconfiariam das mortes ou mesmo dos furos no pescoço.
– Você pode se alimentar das cabras ou de cães, sei lá – falou afoita. – Compramos mais galinhas e porcos.
– Não daria certo, mesmo porque eu teria que ficar escondido em casa. Cedo ou tarde me descobririam.
Balbina negava com a cabeça, mas sabia que eu estava com a razão. Os monges me procuravam, as pessoas inventavam boatos ou mesmo alguém poderia, sem querer, dar com a língua nos dentes. Principalmente Lino, que ainda era novo demais para entender.
– Então você veio para dizer adeus?
– Sim... Infelizmente preciso ir.
– E você nunca mais vai voltar? – falou fungando o nariz.
– Quem sabe eu resolva o meu problema ou encontre quem fez isso comigo para me explicar alguma coisa. Entretanto, não tenha muitas esperanças. – falei com tristeza. – Eu mesmo não tenho muita fé nessa minha jornada.
– Que Deus e os santos lhe guiem, meu marido – falou segurando as minhas mãos. – Vou cuidar bem do nosso filho e ele de mim quando eu envelhecer.
– Fala para ele que eu o amo... E que precisei partir... – um nó se fez na minha garganta. – Diz que... – inspirei fundo. – Invente alguma desculpa.
– Inventarei...
Balbina se virou, entrou em casa e bateu a porta. Pude ouvir um choro abafado e a respiração ofegante. Tudo isso estava sendo duro demais para ela. Ela sofria. E reparei que minha mulher envelhecera bastante desde a última vez que a vi.
Entendo a sua dor e prolongar a despedida só traria mais angústia e amargura.
Chamei Lucio e partimos. Ele perguntou sobre o destino. Eu não sabia ao certo, mas um lugar me veio forte na mente.
– Roma – respondi sem mais explicações. – Vamos para Roma.
Apesar de nunca ter estado lá, algumas imagens de construções imensas e colunas altas me vieram na cabeça. Vi um círculo de pedra com um lado desmoronado. Era magnífico e assustador. Deveria ter o dobro ou o triplo da altura do mosteiro.
Não sabia ao certo a direção, então apenas andamos. Logo iria amanhecer e eu precisava de um abrigo.
Lucio estava calado, mas não me importei, pois no meu coração reinava um vazio amargo. E eu precisava sofrer a separação em silêncio.
De tempos em tempos ele me encarava, mas quando eu fixava meus olhos nos dele, ele desviava o olhar, acabrunhado.
Eu não entendia o que acontecera, tampouco o que eu buscava. Tinha esperança de encontrar respostas, mas ao mesmo tempo, sentia-me inquieto. Será que essa jornada valeria o esforço? Será que eu conseguiria completá-la?
Ou por um descuido ou impossibilidade de me esconder seria esturricado nas primeiras claridades do amanhecer?
Dúvidas...
Caminhos confusos e futuro incerto.
Andamos por uma trilha estreita, depois por uma estrada da largura de um carro de bois. E um pouco antes do sol raiar, chegamos a um mosteiro que ficava no meio do nada.
Mas, apesar do local ermo, era uma imponente construção cercada de campos salpicados por ovelhas e cabras, com algumas plantações e com um riacho ao fundo, onde uma grande roda-d’água girava suavemente e levava a água até um reservatório grande alguns pés acima.
Do outro lado do riacho, mais abaixo, um moinho-d’água fazia uma grande mó trabalhar com vigor.
Quatro bois descansavam tranquilamente e dois pôneis relincharam ao nos ver. Um cavalo magro continuou dormitando sem se importar.
Andamos até o mosteiro. Lucio conhecia o prior de lá.
E ele nos deu abrigo. Por sorte, os monges acordavam antes de o galo cantar. E muitos já iam para seus afazeres e orações antes do desjejum. Todos estavam despertos, apesar de sonolentos, quando chegamos.
Menti e falei sobre uma doença que me causava fraqueza intensa. Disse que dormiria muito, provavelmente durante todo o dia, mas não era para se preocuparem comigo.
O prior disse que iria rezar pela minha recuperação e que falaria para nenhum monge me incomodar.
Agradeci, ele rezou com a mão sobre a minha cabeça e, então, fui para a casa de hóspedes. Ela não era usada há muito tempo. E eu torcia para que não chegasse nenhum viajante exausto, senão as coisas poderiam se complicar.
Abri a porta emperrada e as dobradiças enferrujadas rangeram devido a força que precisei fazer.
Havia teias de aranha e um cheiro de mofo e umidade.
A construção sólida de pedra tinha o teto de madeira calafetado com piche para ficar impermeável e apenas a porta pesada pela qual entrei. Não tinha janelas e os cantos eram escuros o suficiente.
Tranquei-a por dentro para evitar quaisquer imprevistos.
Lucio juntou-se aos monges nas orações.
Rezei para passar o dia sem incômodos. E adormeci sobre um monte de palha úmida enquanto os camundongos faziam sua algazarra bem ao meu lado.
O abade estava ansioso e caminhava de lado a lado na biblioteca do mosteiro. Pegou um livro e folheou-o sem ler nada. Vittore e Umberto o observavam em silêncio. Eles não sabiam o motivo de terem sido convocados para essa reunião. Na verdade, imaginavam se tratar de algo sobre o Alessio, mas não podiam imaginar o quê.
Um homem alto e magro, com cabelos tão pretos quanto carvões e olhos de um azul-celeste profundo apareceu na entrada da biblioteca. Bateu no batente da porta com os nós dos dedos.
Prontamente o abade Nicola abriu um sorriso e convidou-o para entrar.
Ele veio com passos decididos e sentou-se no lugar indicado na mesa comprida, ao lado de Umberto.
Ele olhou para os outros dois monges, mas não lhes dirigiu a palavra.
– Conseguiu descansar, meu amigo? – perguntou o abade tomando o seu lugar na cabeceira da mesa. – Não o vi na refeição.
– Não estava com fome – respondeu de pronto. – Preferi meditar um pouco mais no meu aposento.
– Ótimo, ótimo – falou Nicola com entusiasmo. – Deixe-me apresentar os irmãos Umberto e Vittore – indicou-os com a mão trêmula. – Eles também são bons amigos e de minha total confiança. Sabem do ocorrido tanto quanto eu.
Ambos fizeram mesuras com a cabeça que foram retribuídas sutilmente pelo homem.
– Umberto, Vittore, esse é o frei Ugo meu amigo Catanzaro – disse Nicola tocando a mão do homem. – Ele vai nos ajudar a descobrir as respostas que tanto procuramos. É um estudioso sobre os artifícios do demônio. Peço que o ajudem sem qualquer restrição.
Ugo tinha 33 anos, mas seus olhos eram sábios, antigos e até mesmo amargurados, como já lhe disseram. Assim como o dos velhos. As rugas na sua testa denunciavam muitos momentos de preocupação e seus lábios finos sempre pareciam estar em um semissorriso.
– Frei Vittore, frei Umberto... – pausou sua fala para inspirar fundo. Sua voz, apesar de ser aguda para um homem era firme e bem empostada. – Sendo amigos do senhor abade Nicola, são meus amigos também.
Ele sorriu e mostrou os dentes bem alinhados e brancos. Seu semblante se amenizou um pouco.
Um irmão entrou na biblioteca trazendo vinho, queijo de cabra e dois pães escuros ainda fumegantes. Apesar de a última refeição ter acontecido há pouco tempo, Nicola sabia que bons petiscos ajudavam muito nas conversas. E nesse caso, quebrar um pouco o rigor das regras era importante.
– Por favor, encoste a porta. – falou o abade para o jovem que trouxera a alimentação.
– Pronto, agora temos mais privacidade.
– Sim, vamos prosseguir, pois quanto mais o tempo passa, mais os sinais e as pistas esfriam – falou Ugo, resoluto.
Os quatro conversaram bastante e apesar da noite avançar, não sentiram cansaço ou desânimo. O abade contou minuciosamente sobre as pesquisas feitas e sobre cada boato que ouviu dos monges e dos camponeses. Apesar de achá-los irrelevantes, Ugo ouvia-os atentamente.
– São nas hipóteses menos prováveis que encontramos a verdade velada – falou enquanto cortava uma fatia fina de queijo. – Aprendi isso com o prior Bento meu tutor depois que resolvi entrar para a Sagrada Igreja.
Com o prior ele também aprendera a apanhar sem chorar e a sofrer sem reclamar. Tinha sido forjado na dor e pela dor. Porém, isso ele guardava para si.
– ... assim, nós descartamos doenças, pelo menos todas as que conhecemos – disse Umberto enquanto Ugo estava envolto em seus pensamentos. Ele não prestou atenção no começo da fala, mas assentiu ao final.
Depois de informado, levantou-se abruptamente.
– Senhor abade, já tenho todas as informações de que preciso – disse o monge. – Tenho a sua permissão para prosseguir e trazer luz ao acontecido?
Nicola olhou para os outros dois monges. Uniu as mãos e fechou os olhos. Conhecia os métodos do amigo, sabia que tinha um apelido nada lisonjeiro, Carnefice, mas não tinha outra escolha, pois esgotara todas as alternativas.
– Não prefere esperar amanhecer? – indagou Vittore.
– O tempo perdido apaga as pegadas... – falou sem olhar para o velho monge. – Tenho sua permissão para seguir, reverendo? – perguntou novamente ao abade.
– Sim. E que Deus lhe abençoe na sua jornada.
Ugo, o Carnefice, sorriu e abriu a porta da biblioteca.
– Só mais um minuto – disse o abade.
Ugo estancou e olhou para trás.
– Esqueci-me de falar, mas um dos nossos irmãos, Lucio, fugiu do mosteiro há quatro dias e me deixou uma mensagem que passou sob a porta do meu quarto – disse entregando um velino sujo ao monge.
“Fui com o Alessio, ele não paresse um monstro. Deve tá somente pertubado ou duente. Fomos sem distino e se Deus permiti, pagaremo os pecado”.
A letra de Lucio era sofrível e os erros eram grosseiros, entretanto Ugo conseguiu ler a mensagem sem problemas.
Olhou para o abade e para os dois monges e se despediu, saindo da biblioteca sem dizer nada.
Ele sabia que não era uma doença. Já lera sobre demônios e monstros antes. Já se encontrara com um deles. A coisa, mesmo acorrentada e muito ferida, continuava rindo e blasfemando contra Deus. Um padre depois de passar um tempo com a besta fugiu atordoado, vociferando xingamentos e atirou-se do alto do torreão.
Ugo fora chamado e ela exaurira todas as suas forças, tanto que ele precisou sair para respirar e rezar. Passou apenas poucos instantes fora do calabouço e quando retornou a criatura já não estava mais lá. Os grilhões continuavam fechados e não havia outra saída além da porta.
O Diabo havia lhe pregado uma peça. Mas isso não aconteceria mais. A experiência o fez ficar mais esperto. Passara anos estudando e se preparando. E agora chegara a oportunidade de se redimir por aquela falha.
E sua convicção era plena.
Sua fé inabalável.
E a lâmina fria traria a verdade.
Não importa quantos gritos e dor precisasse causar.
Foi até seu aposento e pegou seus poucos pertences. Sentiu uma pontada no peito e depois uma leve falta de ar. Já tivera isso antes, principalmente em momentos de ansiedade.
– Agora não – falou massageando o peito.
Outra pontada.
Deitou-se na cama e respirou fundo, mas não conseguiria dormir. Repetiu rezas por muito tempo até o céu se tornar mais claro.
A falta de ar passou e ele não estava cansado, mesmo com a noite insone. Seu coração também acertara o prumo e estava mais calmo.
Levantou-se, foi até o estábulo e selou seu cavalo. Chuviscava. Mas ele não se incomodou.
E, antes da alvorada, partiu, confiando na mão de Deus para lhe guiar.
Cavalgou vinhedo adentro e foi fazer o seu divino trabalho.
Capítulo VII – No fio da lâmina
Despertei de súbito.
Alguém batia vigorosamente na porta.
Levantei com um pulo e estalei o pescoço.
Abri a tranca.
Devia ter sido mais cuidadoso, pensei, entretanto, o dia já estava indo embora e apenas um leve avermelhado por entre as nuvens ainda persistia no horizonte. Minha pele esquentou um pouco, mas nada dolorido ou angustiante.
Lucio me encarava fixamente.
Ele segurava uma vela grossa. A cera escorria e se endurecia em sua mão, mas ele não parecia ligar. Olhava-me com o cenho franzido e respirando alto, quase bufando.
Entrou na casa de hóspedes trombando comigo ao passar pela porta e sentou-se em um banquinho.
Observei-o sem entender nada.
O monge inspirou fundo.
– Por favor, entre e encoste a porta – disse com a voz firme.
Obedeci sem questionar, apesar de a sede começar a me instigar.
– Sei que é pecado bisbilhotar a conversa dos outros, mas ouvi o que você e a sua mulher falaram, mesmo porque vocês falam alto demais – disse quase sem respirar – Beber sangue? Deus do céu! Então os boatos eram verdadeiros!
Ele se levantou e seu rosto agora era completo desespero.
– Como pôde beber o sangue de alguém? Por Cristo! – sua voz começou a ficar mais alta e aguda como o ganido de um cão. – Você me trouxe junto para garantir sua alimentação? Foi isso, não é? Quando sua fome apertasse iria me levar para a floresta e morder o meu pescoço. Por quanto tempo mais iria me manter nessa farsa, hein?
Lucio começou a grunhir e a ofegar. Fazia barulho demais. E isso não era bom.
– Fique quieto e aja como homem – ralhei com ele. – E foi você que quis vir comigo.
Ele ameaçou protestar, mas fiz um gesto com a mão para ele se calar.
– Sente-se que eu lhe conto a verdade.
Não queria espalhar essa história. Não conhecia Lucio tão intimamente a ponto de confiar cegamente nele, mas dadas as circunstâncias, eu tive de relatar o ocorrido.
Encarei-o nos olhos e lá no fundo, não senti maldade. Ele parecia uma criança perdida, desnorteada.
Inspirei fundo e comecei a lhe contar sobre o acontecimento.
Lucio escutou tudo calado, atônito e, ao final da história, pegou um odre feito de pele de cabra de dentro do hábito e bebeu vorazmente.
Permaneceu em silêncio por um tempo, mexendo nos dedos gordos, coçando a pança e sacudindo os joelhos.
Por fim, inspirou fundo e disse:
– Pobre diabo. Que chagas foram impostas a você! Sua alma deve ter sido corroída pelo demônio que fez isso.
Pensar na minha alma corroída me causou imensa tristeza.
E lembrar-me vividamente da face do demônio que me mordeu inflamou a raiva no meu peito.
– Tudo tem um propósito nessa vida – prosseguiu o irmão gordo –, talvez Deus me colocou no seu caminho para poder ajudá-lo. Quem sabe assim eu não arrumo meus próprios erros – murmurou entre os dentes.
Ele fez mais algumas perguntas sobre o Sol, sobre a sede e os poderes que adquiri.
– Hum... – cofiou a barba. – Temos um problema aqui.
– Um só? – falei com sarcasmo.
Ele me olhou com o cenho franzido e prosseguiu.
– Nem sempre você terá como se abrigar do Sol – falou levantando-se. – E para chegarmos até Roma precisaremos andar um bocado.
– Se esse tiver que ser o meu fim, será – respondi desanimado.
– Hum... Preciso pensar um pouco. Vou falar com o despenseiro, para ver se sobrou alguma costela de carneiro. A barriga vazia não ajuda em nada.
Ele saiu apressado.
Trançou as pernas e caiu de joelhos.
Levantou-se com dificuldade, limpou a poeira do hábito, olhou para trás e me deu um sorriso sem graça. Continuou seu caminho repuxando a perna.
Lucio era engraçado. Era um bom homem, pelo que eu sentia. E para o bem ou para o mal, eu precisava confiar nele.
Meu estômago se alvoroçou.
Pensei no sangue. Senti sede.
Então também saí para buscar o meu desjejum.
Ugo cavalgou com o Sol tímido aquecendo as suas costas. Seu cavalo estava descansado e bem alimentado, por isso conseguiu percorrer uma boa distância. Ele segurava entre as rédeas o velino amassado. Não precisaria lê-lo novamente, pois a mensagem estava clara na sua mente. A letra malfeita, os erros, a tinta borrada em uns trechos e cada palavra aparecia com nitidez à frente dos seus olhos.
Cruzou por alguns camponeses que saiam rapidamente do seu caminho. Seu imponente cavalo bufava e o chão tremia sob seus cascos.
Lembrou-se das incursões que fizera como soldado e do medo que causara nas pessoas. Lembrou-se das atrocidades cometidas e do desespero de mães atônitas por verem seus filhos sangrarem aos seus pés. Ouviu os gritos, as súplicas e o silêncio subsequente.
Viu a espada e o aço brilhante. E depois o metal manchado de carmesim.
O cavalo relinchou e Ugo balançou a cabeça para afastar os maus pensamentos.
Seu animal não era um simples asno como muitos usavam para se locomover, tampouco era um pangaré cheio de carrapatos e com as ancas caídas.
Era um belo macho berbere castanho que um mercador lhe deu há dois anos em gratidão pela sua ajuda com o seu filho.
O bebê estava entalado e a sua mulher gritava de dor, recostada em uma árvore ao lado da trilha lamacenta. Ambos morreriam. Porém, a lâmina fez mais um milagre. Ugo abriu a barriga dela e retirou o rebento magricela. A criança se salvou apesar da mulher morrer. E mamou vorazmente na teta da irmã da falecida, que há pouco concebera uma menina.
Então, numa fria manhã, semanas depois do encontro, o rico mercador apareceu com um potro vivaz e saudável.
Foi um ato de fé do homem. E que trouxe mais um companheiro para a sagrada missão do monge.
Ugo sabia que a imponência era parte do seu trabalho. E para fazer a obra de Deus, valia tudo, sempre.
Ele cavalgou vencendo facilmente o aclive de um morro e instantes depois avistou a casa simples de Alessio. O fogo brilhava lá dentro e a porta estava aberta. Percebeu à distância que uma mulher gorducha varria o chão. Imaginou ser Balbina. Diminuiu o trote. Não queria assustar a esposa dele. Não logo na chegada.
Desmontou e carregou o cavalo pelas rédeas. Estava a uns 30 passos de distância e percebeu que a mulher forçava os olhos para vê-lo.
Aproximou-se.
Fez uma mesura e a mulher manteve-se desconfiada.
– Meu nome é frei Ugo, sou um amigo do senhor abade Nicola – falou calmamente enquanto amarrava o cavalo em uma árvore. – Você poderia me dar algo para beber?
Balbina mediu-o dos pés à cabeça.
– Não está um pouco cedo para viajar?
– Não há cedo ou tarde para o trabalho de Deus – deu um sorriso forçado.
Silêncio...
– Entre, por favor... – falou deixando a vassoura encostada na parede – Sente-se e coma uma maçã, se quiser.
Ugo deu outro sorriso metódico enquanto a mulher pegava vinho em um pequeno barril.
Ela lhe entregou o copo de madeira e ele deu um longo gole. Pediu um pouco mais e foi prontamente servido.
– Muito obrigado – falou limpando a boca na manga do hábito. – Que Deus nunca lhe deixe faltar nada.
– Amém – disse ao sentar-se. – E qual é o motivo da sua visita, frei Ugo?
– Alessio di Ettore – falou sem rodeios. – Seu marido está, digamos, sumido...
Balbina pegou uma das maçãs e mordeu, nervosa.
– Sim, está – disse com a boca cheia. – Não o vejo há muitos meses. Talvez tenha até morrido. Ou está muito doente em algum lugar. Estou tão preocupada. Não durmo bem e quando pego no sono, acordo assustada. Meu bom Deus sabe o quanto estou sofrendo.
Deu mais uma bocada na fruta e mastigou ruidosamente.
– Não o vê há meses... – falou ao se endireitar no banco.
Silêncio...
– Faz muito tempo que ele não aparece por aqui? – olhou-a fixamente. – Você deve estar sentindo muito a falta dele, não é?
– Sim, sim – disse afoita. – Desde que ele passou mal e fugiu do mosteiro, nunca mais o vi. Agora sou só eu e o meu filho.
A maçã já tinha sido totalmente devorada e outra já estava na sua mão.
– E o que você sabe sobre o que aconteceu naquela noite no mosteiro?
– Sei que ele estava vomitando, fraco, tonto... – sua testa começou a ficar salpicada de suor – Daí parece que ele ficou ruim da cabeça e até um pouco irritado. Mas ele nunca foi violento aqui em casa ou no trabalho. A doença deve ter mexido com seus julgamentos.
O monge inspirou profundamente, estalou os dedos e prosseguiu sem piscar.
– Naquela noite ele mordeu o pé de um homem e matou o irmão Fortunato – Ugo inclinou-se em direção a mulher e falou com uma impostação incisiva, quase um rosnado –, ele bebeu todo o sangue do monge. Mordeu seu pescoço e sugou vorazmente até deixar o corpo inerte caído na enfermaria. Esvaziou o corpo, deixando-o seco. Você já sabia isso, não é?
– É o que dizem as bocas grandes por aí... – gaguejou. – Eu não dou ouvidos. Sei que o meu marido é um bom homem, frei Ugo. É temente a Deus. Não esse monstro.
Ugo inspirou fundo novamente. Sabia que a mulher mentia.
Por que ninguém diz a verdade nessa terra?– pensou. – Esse mundo realmente está nas mãos de Satanás.
Balbina estava cada vez mais irrequieta, tamborilando os dedos na mesa e suando, agora profusamente. Uma terceira maçã foi pega e mordida com a mesma voracidade das anteriores.
Era chegado o momento de pressionar. A lâmina traria a verdade como sempre fizera, mas não seria Balbina que sangraria, pois Lino acabara de entrar, carregando alguns peixinhos amarrados com um cordão de palha trançada.
Ugo sorriu. E convidou o menino a sentar-se com eles.
– Ele precisa se arrumar para o trabalho – Balbina interveio quase como uma súplica.
– Prometo que será rápido – respondeu o monge. – E um menino forte como ele não terá problemas se ficar um pouco a mais conosco, ele pode trabalhar mais rápido para compensar, não é garoto?
Lino sentou-se sobre um saco de trigo. E olhou a mãe sem entender nada. Os peixes se debatiam e abriam e fechavam a boca sufocados, assim como Balbina. Ela colocava uma mão sobre o peito e a outra sobre a testa suada.
Ugo levantou-se, foi até o barril e encheu o copo com o vinho aguado. Voltou para o seu lugar e passou a bebida para o menino.
– Vejo que a pescaria foi boa – disse com um sorriso nos lábios. – Deve estar cansado pela caminhada. Beba.
O menino pegou o copo e deu apenas um gole, mas foi encorajado a beber tudo. Apesar de ser uma bebida fraca, seu rosto se avermelhou.
– E me conte – Ugo fez uma pausa enquanto estalava o pescoço –, o que você usa como isca para pegar esses peixinhos.
– Na verdade, eu faço uma armadilha com juncos trançados – respondeu com a voz amolecida. – Daí armo tudo com madeiras e pedras e deixo durante a noite toda num lugar em que o rio é raso. Logo que acordo corro até lá e sempre tem uns peixinhos ou mesmo rãs se debatendo. Quando tenho sorte, consigo pegar alguma enguia, que vendo para o moleiro.
– Já pegou alguma cobra em suas arapucas? – perguntou Ugo.
– Eu não, mas meu amigo Paolo já. Ela estava engolindo um dos peixes presos.
– E o que o seu amigo fez?
– Tentou tirá-la da armadilha, mas a danada deu um bote – fez o gesto com a mão sobre a mesa –, e quase picou o nariz dele. Bicho traiçoeiro.
Então Ugo, o Carnefice, sacou a adaga sem nenhum aviso e cravou-a na pequena mão do garoto, que gritou pelo medo e pela dor.
Balbina levantou para ajudar o filho, mas tomou um tapa no rosto e desabou no banco, chorando.
Lino tentava arrancar a adaga da mão, mas a lâmina fincou-se fundo na madeira.
– Quanto mais você se mexer, mais vai doer, meu filho – disse com serenidade. – Só preciso saber a verdade e todo o sofrimento vai acabar. A verdade lhe trará o alívio.
– Eu já lhe disse o que sabia. Tenha piedade! – gritou Balbina ofegante e com a mão apertando o peito com força.
Piedade...
Ugo se considerava o mais piedoso entre os filhos de Deus, pois libertava a alma corrompida de todos os males terrenos e do inferno. Ele era um purificador que poupava o céu das imundícies dos homens.
O homem segurou no cabo da adaga e balançou-o um pouco para frente e para trás. Lino mordeu os lábios. Seu nariz escorria e ele chorava baixinho, com suas forças se exaurindo.
Uma poça de sangue se formou embaixo da mãozinha calejada.
Ugo lembrou-se do Cristo crucificado e de todo o sofrimento para apagar os pecados. E pensou que os homens não são dignos desse sacrifício.
– Jesus suportou suas provações sem resmungos e ainda pediu perdão para os seus algozes – pensou.
– Balbina, sei que é uma boa mãe – disse segurando no braço fofo dela, quase que com ternura –, sei que não deseja que o seu filho sofra. Você pode acabar com isso. Basta me contar a verdade. É tão difícil?
– Você vai fazer mal para o Alessio? – sua respiração estava entrecortada.
– Longe disso. Irei ajudá-lo a reencontrar o caminho para a salvação.
– Há quatro noites... – a mulher disse olhando para o chão. – Ele esteve aqui rapidamente e partiu antes do galo cantar.
– Agora estamos nos entendendo. Continue.
– Ele me contou que viveu em um leprosário, mas que precisava encontrar respostas – escarrou no chão depois de ficar sufocada com sua própria saliva. – Disse que iria para Roma, pelo menos foi o que eu entendi ele falar para o irmão gordo. Eu escutei por detrás da porta... Não tenho certeza.
Desatou a chorar copiosamente.
– Interessante – disse Ugo ao se levantar. – O que ele deseja em Roma? Por que iria para uma cidade onde tem mais riscos de ser caçado ou descoberto?
– Eu disse tudo o que sei – desesperou-se. – Por favor, não machuque mais o meu menino.
– Machucar? – soergueu as sobrancelhas. – Eu não fiz nada. Você fez.
Ugo arrancou a adaga com um puxão forte. Lino berrou de dor segurando a mão ferida.
– Viu como mentiras podem causar muitos males, Balbina? – falou com uma calma insuportável. – Você poderia ter evitado tudo isso se tivesse colaborado, se tivesse respeitado a seriedade da situação. E não foi a mim que você desrespeitou. Foi à Deus!
– De-desculpe – a mulher estava vermelha e tremia muito.
– Mas com a Sua grande misericórdia e amor, Nosso Senhor pode lhe perdoar se você realmente se arrepender – limpou a lâmina em um trapo que encontrou sobre o baú. – Você se arrepende dos seus pecados?
– E-eu me... Balbina levou novamente a mão no peito, soltou um grito rouco e desabou no chão como um saco cheio de cevada.
Lino caiu para trás olhando para a mãe desacordada. Seu rosto estava paralisado e os olhos esbugalhados.
Ugo balançou a cabeça em um lamento silencioso e tomou o pulso de Balbina. Fechou os olhos e suspirou. Virou-se e encarou o menino, que ainda estava com o olhar fixo na mãe.
– Vamos rezar para que a sua mãe tenha se arrependido de verdade – falou olhando para o menino.
O garoto estava petrificado e nada respondeu.
Ugo se ajoelhou e fez várias orações fervorosas antes de dizer amém e se levantar devagar.
– Que Deus lhe guarde e o mantenha no estreito caminho da fé, meu filho – fez o sinal da cruz para Lino e saiu do casebre encostando a porta.
Lino permaneceu imóvel, com a respiração acelerada.
Mijou-se antes de desmaiar.
Não daria para me alimentar dos monges. Então fui caçar nas cercanias do mosteiro – naquela época, ainda não tinha claro na minha mente que eu era um predador, como os lobos ou os falcões, aliás, eu apenas me preocupava em beber sorrateiramente e aplacar rapidamente a sede sem deixar vestígios. Eu estava na infância da minha nova vida.
Eu não conhecia o lugar, então, resolvi subir em cima do telhado do mosteiro para poder dar uma olhada ao redor. Por sorte não tinha ninguém por perto, tampouco tive qualquer dificuldade para escalar a parede de pedra. Foi até mais fácil do que eu esperava.
Lá de cima, pude ver as plantações, o riacho e um vilarejo que circundava um lago pequeno. A fumaça saia das casas e subia vagarosa. Pude sentir cheiros de peixes sendo defumados e pão fresco trazidos pelo vento.
Tinha, assim, encontrado o meu rumo naquela noite.
Não sei o porquê, mas tive vontade de pular, ao invés de descer pela parede. Era alto e certamente eu quebraria as pernas, mas algo instintivo dominou a razão e sem hesitar, saltei.
Era estranho, pois eu não caí na mesma velocidade que imaginei que cairia. Era como se o meu corpo estivesse mais leve e pairasse no ar. Aterrissei sem qualquer problema, como um gato faria ao saltar de um galho alto.
Aos poucos eu estava descobrindo as minhas novas habilidades. E não deixava de ficar surpreso em cada novo feito.
Andei margeando o riacho. Uma marta passou correndo ao meu lado com um esquilo na boca. Logo, três filhotes seguiram-na trôpegos. Deviam estar famintos, assim como eu.
O vilarejo não tinha mais que 15 casas. Todas muito simples e praticamente iguais, com suas paredes de adobe e tetos de palha. Somente duas eram feitas de pedras, pois deviam pertencer a comerciantes mais abastados, a julgar pelos tecidos pendurados do lado de fora de uma e os barris ao lado da outra.
Desses, eu passaria longe, pois sua morte chamaria muito a atenção, causaria alvoroços desnecessários. Andei pelo entorno do vilarejo procurando alguma oportunidade. Por sorte, logo a encontrei.
Recostado em uma pedra na beira do lago, um velho seco como uma árvore morta bebia uma cidra com cheiro azedo. Sua pele era recoberta de rugas profundas e muitas verrugas escuras.
Olhei ao redor e ninguém estava por perto. Apenas uns menininhos brincavam na margem oposta do lago. Certamente não me veriam, pois não tinham olhos como os meus.
– Ei velhote – chamei baixinho.
O homem levantou a cabeça e me observou intrigado.
– Quer ganhar uma jarra de vinho? – menti.
Imediatamente seus olhos se acenderam como se eu tivesse lhe oferecido uma moeda de ouro. O velho se levantou com dificuldade assuou o nariz com a mão e veio ao meu encontro. Ele andava cambaleante, mas como se suspenso por alguma força invisível, ele não caiu.
– Cadê o vinho? – o bafo horrendo fez minhas narinas arderem.
– Feche os olhos.
– Você não vai colocar sua vara na minha bunda, certo, hic? – disse embolando as palavras.
– Não vou.
– Jura?
– Juro.
Ele fechou os olhos e eu dei o bote, mordendo seu pescoço suarento e sugando o sangue com um leve sabor de álcool.
– Que cê tá fazendo? – perguntou o bêbado, confuso. – Caralho, meu pescoço dói.
Mais uns goles e ele desmaiou. Dois goles longos e seu coração parou.
Soltei-o e ele desabou no chão. A sede estava saciada e eu estava feliz, leve, como quando eu bebia umas boas jarras do vinho do mosteiro.
– Então, ainda posso tomar uns tragos de vez em quando – pensei alto. – Hum, que interessante.
Senti minha língua levemente adormecida e minhas mãos formigavam um pouco.
Entretanto, precisava esconder o corpo.
Peguei o velho e coloquei-o com facilidade sobre o ombro. Também peguei a jarra de barro vazia e levei-a comigo para um bosque que começava há uns 100 passos de distância.
Coloquei-o deitado no chão, com a jarra ao seu lado. Bati com um toco na sua cabeça, abrindo um corte fundo na sua testa.
– Pronto, vestígios apagados.
De manhã o encontrariam caído e certamente culpariam a cidra pela sua morte.
Voltei feliz e cheio.
A mistura de sangue e álcool me fez bem e naquela noite eu me esqueci dos meus problemas, ainda mais depois de ver a surpresa que Lucio me preparou.
– Onde você estava? – perguntou assim que me viu.
– Bem...
Logo sua expressão mudou e ele fez o sinal da cruz.
– Não precisa falar. Eu já sei. Pelo menos o infeliz ou a infeliz teve uma morte rápida? – perguntou cruzando os braços sobre a barriga protuberante.
– Fale baixo – vi que alguns monges nos olhavam. – Sim, foi rápido.
– Está bem. Não precisa me contar mais nada – falou mudando o semblante. – Agora venha, tenho uma surpresa.
Ele avançava com passos pequenos, arrastando as sandálias no chão, levantando poeira atrás de si. Apesar de ter percorrido uma distância curta, vi gotas de suor escorrer pelas bochechas redondas quando ele olhou para trás e sorriu para mim.
Chegamos ao estábulo e vi o cavalo magro atrelado à uma carroça com um caixão em cima.
Lucio encostou-se em uma das vigas e sorriu para mim.
– O que é isso?
– Isso é a sua cama.
– Como assim?
– Alessio, você não pode ser tão burro! – falou com um sorriso maroto. – É dentro desse caixão que você vai viajar durante o dia.
– Dentro desse caixão? Valha-me meu Deus – benzi-me. – Não vou me enfiar dentro disso. Não estou morto.
– Então queime ao Sol.
Fitei-o por um tempo. Aproximei-me da carroça e olhei de perto o caixão. Era feito de uma boa madeira. Abri a tampa, havia pedaços de couro pregados na madeira, tapando todas as frestas.
– Que filho da puta engenhoso – vibrei – Opa, desculpa pelo palavrão.
Lucio gargalhou alto e eu ri com ele. Não contive a alegria e lhe dei um abraço, pois um grande problema estava resolvido. Agora a jornada ficaria mais segura.
– Isso deve ter custado muito caro.
– Na verdade, não tanto, mas paguei a igreja com um bem da própria igreja – falou envergonhado. – Eu achei, num dia depois de uma missa, um belo crucifixo de prata e ouro em cima do altar... Não resisti e surrupiei a cruz.
Olhei-o com uma careta.
– Eu sei que sou um safado – disse cabisbaixo – Mas acho que vou encontrar o perdão ao longo dessa nossa viagem. Sinto isso.
– Mas me diga... Não desconfiaram do caixão? – perguntei voltando ao assunto. – Afinal, não se compra um caixão sem estar morto.
– A minha avozinha acabou de morrer... – corou.
Gargalhei novamente. Estava feliz, pois tinha um amigo para a jornada, um cavalo magro, uma carroça e um caixão.
Agradecemos ao prior pela estadia e ele nos deu pão e um vinho fraco para a viagem.
– Vou rezar pela sua recuperação – falou ao me abençoar com o sinal da cruz.
Agradeci e partimos.
E a estrada que pegamos parecia ser infinita.
Todavia, iríamos enfrentá-la passo a passo.
Ugo passou a manhã toda no bosque, purificando-se por causa da morte da mulher. Uma fatalidade, estava convicto. Repetira orações pelo menos duzentas vezes. Despiu-se, entrou em um poço formado por uma pequena cachoeira e submergiu. Instantes depois emergiu puxando o ar com vigor. Seus lábios estavam arroxeados e seu corpo tremia por causa da água muito fria.
Rezou mais umas cinquenta orações e logo depois do meio-dia, retomou a sua jornada.
– Estou na trilha certa – falou enquanto cavalgava pelo caminho poeirento.
Parou apenas duas vezes. Uma para se alimentar e outra para aliviar a bexiga. O suor branco se formava no lombo do cavalo. Mas o belo animal não demonstrava cansaço. Estava acostumado às longas jornadas. Mesmo assim, diminuiu a marcha. O Sol estava se pondo. Ao longe divisou uma grande forma cinzenta. Não conhecia muito bem o lugar, mas tinha certeza de se tratar de uma igreja.
Aproximou-se e confirmou as suas expectativas.
Enfim, teria descanso. Pois sua missão para aquele dia estava cumprida. Não queria que Balbina morresse, mas se Deus assim quis, não havia porque se lamentar. Ele sempre fazia o melhor pelas pessoas. Mas mesmo assim rezaria por ela e acenderia uma vela. Algo lhe dizia que se a mulher de Alessio não tivesse sofrido aquele mal, teria se arrependido.
Pediu pousada e comida aos irmãos e foi prontamente atendido. Antes de dormir, rezou fervorosamente, olhando para um cristo que sangrava em sua cruz.
Não havia verdade sem o sangue. Não havia ressurreição sem o sangue. Não havia perdão sem o sangue.
Comeu pão de massa grossa, um generoso pedaço de queijo duro e bebeu cidra junto com os irmãos.
Conversou um pouco sobre assuntos frugais, sobre as estradas e alguns outros temas rotineiros. Mantinha segredo sobre a sua missão. Ainda não era o momento de fazer perguntas.
Retirou-se, escovou seu belo cavalo berbere, deu-lhe um pouco de grãos e levou-o ao estábulo.
Bocejou. Estava exausto.
Dirigiu-se à casa de hóspedes, trancou a porta e despiu-se completamente.
Pegou sua estimada adaga e com a ponta fez dois cortes ao longo do seu braço esquerdo, retos, paralelos, perfeitos.
O sangue brotou e escorreu. Prostrou-se de joelhos e fez uma oração. Sabia que Deus lhe ouvia.
Enrolou o braço com uma faixa suja de sangue e deitou-se sobre a palha úmida, nu, mesmo com a noite fria.
Não desejava conforto. Não se permitia a isso.
O frio purificava.
Fechou os olhos e logo adormeceu.
Pois acreditava que merecia o sono dos justos.
Capítulo VIII – Pecados
Lucio e eu nos afastamos por quase duas léguas do mosteiro antes de pararmos para descansar. Apesar de ele ser um religioso, era perigoso ficarmos expostos na estrada, havia muitos bandidos que adoravam se aproveitar de presas fáceis, portanto, adentramos um bosque até encontrar uma pequena clareira com um regato ao fundo.
Era uma época do ano em que as noites eram mornas e o ar ficava tomado pelo cheiro das flores silvestres. Morcegos voavam ao nosso redor, dando rasantes próximos as nossas cabeças para se fartar com os insetos abundantes. Apesar de rápidos e pretos eu podia vê-los com clareza. Desconfio que pudesse pegar um se quisesse.
Mosquitos e pernilongos zuniam nas nossas orelhas aos milhares. E as rãzinhas também enchiam a pança com voracidade.
Lucio acendeu uma fogueira e jogou umas ramagens verdes de uma plantinha rasteira. Logo havia bastante fumaça e os insetos deram uma trégua. Na verdade, apenas o que me incomodava era o barulho nos ouvidos, pois eles não me picavam. Acho que não gostavam de sangue morto e frio.
Imerso em seus pensamentos, e mais preocupado em forrar o estômago insaciável, o gorducho pegou um pequeno saco de algodão engordurado e começou a comer alguns peixes ganhos do despenseiro. Eu conseguia ouvir a sua barriga fazer barulhos engraçados, mesmo estando a cinco passos de distância.
Fartou-se com pelo menos meia dúzia, o que seria uma porção generosa para nós dois. Guardou o restante. Tinha a fome de um urso. Bebeu um pouco de vinho do odre e arrotou com satisfação.
Bocejou.
Jogou mais ramos e musgos na fogueira.
Chutou para o lado umas pedras soltas, deitou-se fazendo a mochila de travesseiro e logo dormiu. Devia estar cansado.
O cavalo magro começou a pastar em uma viçosa touceira. Acariciei o seu lombo, ele estremeceu, bufou, levantou o rabo e adubou a terra bem ao meu lado.
– Deve ser bom não precisar limpar o traseiro depois de fazer o serviço, não é? – dei dois tapinhas nas suas costelas salientes.
Ainda faltava bastante para amanhecer e eu estava completamente desperto. Estava feliz, havia bebido o sangue do velho bêbado. Meu corpo continuava aquecido e forte, então resolvi vasculhar os arredores, apesar de acreditar que não havia nada de interessante por lá.
Embrenhei-me no bosque e os pinheiros começaram a ficar mais altos e os troncos mais grossos.
Seria muito fácil se perder por ali, mas eu podia sentir perfeitamente o cheiro do cavalo e ouvir o ronco alto do Lucio. E minha visão era tão clara como se eu estivesse em um dia nublado.
Caminhei por um tempo, ouvindo os animais da floresta, o farfalhar das folhas ao vento e os meus próprios pensamentos, ainda muito confusos e inconstantes.
Minha cabeça era tomada por dúvidas, as quais eu tinha poucas respostas. Nenhuma, na verdade.
Senti o vento ficar mais forte e as árvores cada vez mais distantes umas das outras.
Quando percebi, o bosque tinha acabado e à minha frente se abria uma imensa área de vales com muitas rochas e arbustos esparsos. E, se os meus olhos não estivessem enganados, havia diversas grutas escavadas nas encostas rochosas do outro lado.
E como tempo ocioso e curiosidade são caminhos para as tentações fui investigar mais de perto. Desci pelo barranco íngreme, prendendo a sandália em urzes, furando a pele em espinheiros. Eram ferimentos superficiais e logo estavam cicatrizados. Por outro lado, minhas roupas, que já não eram boas, ficaram ainda mais esfarrapadas.
Uns cabritos dormitavam e não se preocuparam com a minha aproximação.
Continuei aos tropeços, pisei muito perto de uma cobra esverdeada e quase fui picado. No instante do bote dei um pulo para o lado, perdi o equilíbrio e rolei morro abaixo. Trombei nos arbustos, bati as costas e a cabeça nas pedras e enfiei o rosto no chão. Machuquei-me todo, esfolei os joelhos, cortei o nariz e rasguei os cotovelos. Quando levantei, nauseado e com sinos tocando dentro da minha cabeça, senti uma dor aguda na mão e vi que o meu dedo indicador estava quebrado, torcido em uma posição muito estranha.
– Merda – resmunguei ao tocá-lo e sentir uma pontada. – Vou ter que colocar no lugar.
Respirei fundo e com um movimento rápido o osso voltou ao lugar certo com um estalo.
Uivei de dor. Pássaros voaram de um arbusto próximo. E os cabritos começaram correr para longe.
Eu estava um bagaço, manquei por um tempo durante a caminhada até as grutas, meu tornozelo esquerdo dava agulhadas a cada passo, mas logo as dores diminuíram e, enquanto eu escalava a parede de pedra, sumiram por completo.
Esse novo poder de cura era interessante e um dia poderia ser muito útil, pensei.
No final da escalada, perto da entrada de uma das pequenas cavernas, minha sandália do pé direito se arrebentou. Quase caí morro abaixo, mas consegui me segurar em um tronco morto e espinhento. Senti a minha mão latejar e, ao puxar-me para cima, vi-a cheia de furos que foram se fechando rapidamente, restando apenas salpicos de sangue escuro.
– Seria bom se eu pudesse voar... – falei me recompondo.
Tirei a outra sandália e caminhei com cautela para dentro da gruta. Estava um breu total, mesmo para meus olhos acostumados com a escuridão.
A Lua estava encoberta e a luz das estrelas não era suficiente.
Caminhei passo a passo e, antes de o negrume se adensar completamente, vi um toco de vela sobre uma mesinha quebrada. Ao lado havia duas daquelas pedras de fogo, que soltam faíscas ao serem friccionadas.
Depois de três tentativas, o pavio curto se incendiou e a parca luminosidade ajudou a enxergar o caminho.
Aranhas, ao verem a pequena chama, entraram em suas tocas e um grupo de andorinhões refugiados naquele abrigo voou, piando e com as asas fazendo um som descompassado. Mas logo o silêncio absoluto reinou.
A rocha tinha sido escavada, formando pequenos antros ligados por passagens estreitas. Certamente o lugar, um dia, foi a moradia de alguém, pois espalhados pelo chão havia cacos de cerâmica, pedaços de madeira, roupas em farrapos e até mesmo um montículo com ossos de animais.
Era fascinante pensar que pessoas viveram em cavernas escavadas em morros altos. Isso era mais o estilo dos ninhos das aves ou dos buracos dos texugos.
Continuei a minha exploração. Fui de caverna em caverna, todas vazias, mas com alguns restos interessantes. Uma tinha doze crânios humanos, todos com buracos na cabeça, outra tinha uma parede cheia de desenhos de animais e caçadores.
Em uma descobri um baú vazio e botas tão surradas que o couro se esfarelava ao ser tocado.
Numa mais acima encontrei uma vela inteira, o que foi interessante, pois a minha já estava queimando os dedos de tão pequena.
Entretanto, uma gruta em especial me chamou a atenção. Havia uma cama feita com peles de ovelha, dois livros velhos e algumas roupas boas. Uma espada estava encostada na parede de pedra, ao lado de uma bacia com água.
A bainha era ricamente ornada com fios de prata, coisa fina, de cavaleiro rico.
Achei até algumas joias escondidas debaixo de um cesto de palha. Ao contrário das demais grutas, essa parecia estar sendo usada como moradia, pois uma pequena fogueira ainda conservava algumas brasas incandescentes.
Em outros tempos, eu sairia dali correndo, pois não era interessante invadir a casa de alguém, entretanto, agora eu confiava nos meus ouvidos para perceber alguém se aproximando.
Peguei um dos livros.
Eu não sabia ler, mas achei as ilustrações muito bonitas e ao mesmo tempo assustadoras. Demônios saindo do fogo, serpentes com olhos vermelhos, homens atormentados por diabos com pés de cabra. Eram coloridas e o pergaminho parecia ter sido bem caro.
– Como alguém que mora em um buraco na montanha tem um livro desses? – pensei em voz alta. – Ele deve ser um ladrão e tanto, isso sim.
O outro livro devia tratar do mesmo tema, pois as figuras eram parecidas. E havia florestas com árvores mortas e pessoas fazendo caretas horripilantes. E as imagens pareciam dançar junto ao fogo da vela.
Sentei-me sobre uma pedra e pensei nas imagens que vira.
– Agora eu também sou um demônio bebedor de sangue – falei olhando para as minhas mãos ossudas e com as unhas mais grossas e pontiagudas. – Será que um dia alguém fará um desenho com a minha cara e colocará num desses livros?
Senti tamanha tristeza, um aperto no peito e comecei a chorar. Lágrimas de sangue escorreram pelo meu rosto, pingando no chão.
Fiquei tomado pela angústia e dor não sei por quanto tempo. A vela se apagou. E a escuridão me envolveu.
O negrume me abraçou e deixou a minha alma ainda mais carrancuda.
Eu estava em um antro mais interno dessa caverna. Então tive de tatear as paredes para achar a saída, entretanto, ao passar pelo último corredor estreito antes da entrada, meus ossos gelaram.
Fui muito descuidado.
Fui um idiota.
O dia já surgia e o Sol começava a dominar o horizonte.
– Puta que pariu – praguejei. – Demorei demais! Puta que o pariu... Tô fodido até a alma.
Seria impossível voltar até onde Lucio estava. Teria de passar aquele dia por ali mesmo. O pobre homem ficaria preocupado, acharia que aconteceu algo. Talvez, voltaria até a igreja que nos deu abrigo, talvez desistisse de ir comigo. Ou apenas encheria a cara e ficaria bêbado e choroso.
Contudo, não havia como me preocupar com isso agora.
E se o “dono” daquela caverna aparecesse e encontrasse um intruso? E se ele tentasse me matar durante o sono, que já dominava cada músculo do meu corpo?
Mas nada podia ser feito. Se assim o destino quis, assim seria.
Voltei para o dormitório e deitei-me sobre as peles macias. Estiquei os músculos tensos e fechei os olhos.
Pensei um pouco na vida e logo uma lassidão abraçou minha mente.
Meus pensamentos ficaram mais lentos, esparsos, até que reinou apenas o vazio.
E instantes antes de adormecer fiz uma prece, ou melhor, um pedido:
– Deus, por favor, me guarde nesse dia, pois ainda tenho muito a descobrir. Amém.
Bocejei e apaguei.
– Não acredito que ele foi capaz de um crime desses.
– Infelizmente foi, senhor abade – falou Umberto com os olhos vermelhos. – Ele pressionou tanto a mulher do Alessio que o coração dela não aguentou. Ameaçou-a demais, assustou a pobre senhora e ela teve um piripaque.
– E tudo isso na frente do menino – indignou-se o abade Nicola. – Que monstruosidade! Ele é um monge! E eu nunca imaginaria que Ugo fosse capaz disso. Nós lutamos contra uma manifestação do demônio com um mal ainda maior. Devia ter me atentado melhor ao fato de muitos o chamarem de o Carnefice.
Umberto não aguentou e começou a chorar.
– O que fizemos? O que fizemos, meu Deus? – exasperou-se.
O semblante do abade ficou pesado. A morte de Balbina, apesar de terrível, não era o único problema. Antes das matinas, Lino chegou ao mosteiro, branco, abobalhado e foi diretamente falar com o abade. Contou tudo o que acontecera. Seu rosto não expressava nada, nenhum sentimento, como se ele estivesse imerso em um sonho, mesmo acordado. Falou sem emoção, relatando o acontecido monotonamente e, enquanto falava, cabisbaixo e sem olhar para o abade, sequer piscava.
Nicola, aturdido, pediu para o irmão Bonifácio, um noviço de rosto vermelho e alegre, levar o menino para comer algo.
Desabou na cadeira como se tivesse sido socado na boca do estômago.
O noviço deu pão e frutas para o garoto. E colocou uma manta quente sobre as suas costas. E fez outro curativo no ferimento, que por sorte não estava inflamado.
– Coma, Lino – disse sorrindo. – Eu vou buscar um pouco de cidra na despensa.
Mas, quando ele retornou, o garoto não estava mais lá. O pão não havia sido tocado e as frutas estavam caídas no chão.
Os monges, sob ordens do abade, procuraram no mosteiro, nas cercanias e nos vilarejos próximos, mas nada souberam dele. Ninguém o havia visto.
.
.
.
Nicola estava arrasado e o peso da idade lhe desabou sobre os ombros. Sentiu dores, sofreu pela friagem, foi tomado por um cansaço como nunca tivera antes. Mesmo a sua cabeça, sempre tão centrada, começou a ficar estranha, com ideias de morte e assassinato. Pensamentos de medo e punição. Teve a impressão que ouviu vozes.
– Que Deus me perdoe – falou e saiu da sala.
Tossiu e o ar lhe faltou. Quase se sufocou, como se algo estivesse entalado em sua garganta. Mas ainda não era hora de morrer. Deveria sofrer muito pelas escolhas erradas. Retomou o fôlego, olhou para a grande cruz de madeira e seguiu seu caminho. Na verdade, apenas andou, sem saber para aonde ir.
O sino batia para anunciar as nonas, havia passado bastante tempo e no fundo do seu coração, o abade sentia que nunca mais veria o garoto. E remoía-se por ter feito escolhas estúpidas.
– Carnefice... – murmurou para si mesmo.
Umberto continuava em prantos, soluçando. No fundo de sua alma odiava-se por não ter tido competência para ter descoberto a doença ou o mal que assolava Alessio. Apostou na ciência, mas ela não lhe trouxe qualquer luz.
Colocou toda a sua fé em um homem estranho. Mas, ele era um louco, um assassino. Era um ser perturbado por um passado de guerras e de provações.
Sentiu uma pontada no peito e, abatido, deixou a sala e dirigiu-se para a sua cela. Outra pontada, dessa vez mais aguda.
Diminuiu o passo. Seu peito ardia. Seu estômago ardia, como se tivesse comido uma comida muito temperada.
Apoiou-se na parede. Vomitou.
Caminhou trôpego, praticamente se arrastando. Via estrelas e vultos.
Uma terceira pontada. Uma facada no coração. Mais alguns passos cambaleantes... Chegou ao transepto... Teve uma vertigem e caiu com a mão no peito.
E, de repente, tudo ficou escuro.
Lino andou noite adentro com os olhos vidrados. Estava enrolado na manta, não porque sentia frio, mas porque o lembrava do abraço quente da sua mãe.
Agora ela estava morta.
Jazia sobre o chão de terra da sua casa, com os olhos esbugalhados e a pele arroxeada como uma ameixa. Somente ele tinha visto o que o maldito fez com ela. Não havia mais testemunhas.
Ela morreu para protegê-lo e ao seu pai.
Foi uma santa, como aquelas sobre as quais os padres falam nas missas.
Sentia-se fraco por não ter defendido sua querida mãezinha. Queria ter rasgado a garganta daquele homem mau.
Foi difícil demais fechar os olhos de sua mãe e dar-lhe o último beijo na testa fria.
Sequer podia lhe dar um enterro decente, não conseguia segurar nada com a mão que fora furada pela maldita adaga.
O machucado já não sangrava mais, apesar de seus dedos estarem dormentes.
Ele havia aprendido com a sua mãe a fazer uma pasta cicatrizante com Mil-folhas, cebolas, maçãs e alecrim. Antes de sair de casa, preparou rapidamente a mistura, aplicou no ferimento, que ardeu como se tocado por ferro em brasa, e enfaixou a mão com um pedaço de pano.
Era inútil ficar em casa. Era ridículo ficar choramingando depois de tudo o que aconteceu.
Porém, também não sabia direito o que fazer.
O que um menino poderia fazer?
Ódio e decepção tomaram conta do seu espírito.
Arrependeu-se de contar tudo ao abade. Sabia que ele iria proteger o assassino. Ele era apenas um moleque pobre, filho de um trabalhador que diziam ter feito um pacto com o Diabo.
Homens da igreja sempre se ajudavam, não importava o que acontecesse. Homens da igreja protegiam aos seus. Mesmo aqueles que faziam as boas mãezinhas morrerem assustadas. Malditos...
Tirou a cruz do pescoço. A cruz que Nicola lhe dera quando começou a trabalhar no vinhedo.
Ele gostava dela.
Sentia-se protegido com ela.
Mas, assim mesmo, soltou-a no chão e pisou em cima, com força. Ela se enterrou um pouco no barro, mas não se partiu.
Lino cuspiu em cima dela e se afastou.
Compreendia que agora estava sozinho, sem família e sem Deus.
Queria ter seu pai ao seu lado, mas esse estava muito longe. Agora ele era o homem responsável pela vingança.
Sabia que isso era um pecado, que iria para o inferno. Mas a sua dor e a sua raiva eram maiores do que quaisquer medos.
Não se importava.
Tinha uma missão.
Iria encontrar o homem que fez a sua querida mãezinha partir desse mundo. E daria a ele o mesmo fim.
Iria fazê-lo sofrer. Iria fazê-lo sangrar e jogar suas tripas para os cães. Queria vê-lo gritando e chorando como um menino indefeso. Como ele próprio fizera em seu casebre.
Era uma promessa para a sua mãezinha. Lino não sabia como a cumpriria, mas lutaria até o fim das suas forças para ver aquele monge morto. Nem que isso custasse a sua própria vida miserável.
Capítulo IX – Revelações
Ugo se levantou.
Não dormiu por muito tempo, mas seu sono foi pesado e sem interrupções. Não se lembrava de ter acordado nenhuma vez durante a noite.
Estava totalmente descansado e desperto. Seus cortes no braço ardiam um pouco. Serviriam para lembrá-lo da falibilidade da carne.
Fez uma oração com fervor, assim como fazia a cada novo dia. Precisava conversar com Deus sem interrupções ou distrações.
Mijou em um canto, molhando a palha e a madeira limosa da parede. O vapor subiu e trouxe para as suas narinas o odor característico.
Vestiu-se e foi se juntar aos irmãos nas primeiras orações da manhã. O dia estava frio, mas o céu estava limpo, sem nenhuma nuvem. Viu uma revoada de chapins-azuis e isso o animou. Era um sinal de Deus. E ele sabia que Deus falava com ele por meio desses pequenos indícios, pois tinha certeza de que era um escolhido.
Após os serviços religiosos, ele comeu e conversou com os irmãos. Descobriu que Alessio e Lucio haviam passado por lá há quatro noites.
– Aquele tal de Alessio era um homem estranho – disse um dos irmãos. – Acho que é por causa da sua doença. Ficou recluso durante um dia inteiro na casa de hóspedes. Ouvi dizer que surgem feridas na sua pele se ele tomar Sol.
– E o Lucio não leva uma vida regrada – falou outro –, dizem por aí que ele só sabe comer e beber. Que é devoto do santo vinho.
Começaram risos na mesa.
Dois pequenos cães latiram para acompanhar a algazarra.
Até o prior entrar e restabelecer a ordem.
Guido, o Severo, era um homem de meia-idade, com os cabelos prateados e um rosto fino, terminado em uma boca minúscula e um queixo protuberante. Seus olhos castanhos eram pequenos e astutos. Não aparentava maldade, mas era muito rígido com os monges.
Ele sentou-se à mesa ao lado de Ugo e os demais irmãos abaixaram a cabeça e comeram em silêncio. Até os cães se acalmaram novamente.
A princípio, nada disse, comeu um mingau de farelos grossos e algumas fatias de salame. Ugo também prosseguiu com seu desjejum. E, antes de se levantarem, conversaram um pouco.
Trocaram informações sobre o que se passava no clero e sobre o patriarca Teofilacto de Constantinopla.
– Muitos margraves não aceitam como ele governa e estão insatisfeitos com os impostos – falou Guido. – Por isso, temos tido tantas escaramuças entre condes, duques e mesmo comerciantes mais abastados.
– Ele se preocupa mais com seus cavalos do que com a religião – um ancião reforçou com dedo em riste.
Ugo apenas assentiu com a cabeça, não se importava com esses assuntos dos homens. Suas preocupações eram muito mais significantes.
A conversa prosseguiu com o prior explanando suas preocupações.
– Nós, homens de Deus não devemos interferir nessas brigas – coçou a cabeça –, nossa missão é rezar e pedir intercessão dos santos para um desfecho de paz. Entretanto, com as condições de vida piorando rapidamente, as terras da igreja não ficam imunes às invasões, saques ou mesmo contestação por parte dos nobres.
– Entendo.
Palavras foram ditas por Guido, respostas secas foram dadas por Ugo e a conversa se estendeu pela manhã.
Então, depois de um tempo, o nome Lucio foi dito, quando o monge já estava impaciente e iria pedir para se levantar.
– ... e foi muito estranho aparecer por aqui um irmão leigo junto com um homem com uma doença totalmente debilitante – prosseguiu. – Ainda mais por se tratar do irmão Lucio, o indivíduo que menos gosta de longas andanças nessa terra do Senhor.
Guido soltou um risinho e seu semblante se amenizou, mas somente por um instante.
– O seu companheiro de jornada era muito doente, parece-me que tinha um problema gravíssimo de pele e não podia ficar na quentura do Sol – estalou os dedos –, ficou o dia todo amuado na casa de hóspedes. E ao cair da noite, eles partiram rumo a Roma. Irmão Lucio me disse que iriam buscar um milagre por lá. Talvez sejam muito amigos e isso justifique o esforço. Ou pode ter sido uma penitência dada pelo abade Nicola. Entretanto, essas são apenas suposições – levantou os ombros.
Milagre. Ugo estava envolto em seus próprios pensamentos.
O verdadeiro milagre aconteceria quando os pecados fossem expiados pelo sangue, pelo toque agudo da lâmina.
E mesmo os demônios sucumbiam ao poder de Deus, ao incisivo e frio metal.
Sem demoras ou explicações, Ugo pediu licença ao prior e se levantou.
Tinha um débil sorriso no rosto, pois estava cada vez mais próximo do seu objetivo.
– Que susto você nos deu, meu querido irmão Umberto – falou o abade segurando as mãos do monge. – Graças ao bom Deus que não aconteceu nada pior.
Umberto abriu os olhos e piscou algumas vezes. Não estava totalmente desperto e transitava entre o sono e a vigília.
Nicola forçou um sorriso, mas as lágrimas teimavam em escorrer dos olhos.
Umberto não conseguia enxergar seu rosto com nitidez. Parecia que via através de um pano de linho bem fino.
Tudo estava diáfano. Tudo estava enevoado.
Sentia-se fraco, com o corpo pesado. Parecia que havia corrido por léguas e mais léguas.
Tentou falar, mas a voz não saiu. Tentou esticar a mão, mas essa estava dormente.
Por fim, só conseguiu soltar um suspiro cansado.
– Não se esforce, meu amigo, apenas repouse – disse o abade enxugando sua testa úmida de suor. – Vai ficar tudo bem. Tem que ficar... Sim, vai ficar...
Nicola murmurou uma oração que foi acompanhada por Umberto em sua mente. Ele queria mexer a boca, mas seus lábios não o obedeciam.
Estava muito cansado.
Entretanto, estava em paz.
Um dos monges-enfermeiros trouxe uma infusão forte de agripalma. Umberto sabia pelo cheiro.
– Então eu tive um ataque do coração – pensou. – Pelo bom Deus, um ataque!
Sentiu um leve aperto no peito.
Não era um bom sinal.
Precisava se acalmar.
Inspirou o mais fundo que pôde.
Contou até dez. Rezou uma Ave-Maria.
Sentiu frio. Muito frio.
O monge levantou a sua cabeça e verteu cuidadosamente o líquido na sua boca. O gosto amargo não era bom, mas sabia que lhe faria bem.
Umberto sentiu um calor descer da sua garganta até o seu estômago. Foi uma sensação reconfortante.
– Você vai ficar bem... – falou o abade com os olhos brilhantes de lágrimas. – Vai sim...
Nicola colocou um crucifixo no peito do amigo e se retirou devagar, curvado, derrotado, falando sozinho.
Umberto teve pena dele. Sabia que ele também sofria. Parecia muito mais velho e cansado do que se lembrava.
Sabia que sua dor era imensa, pois sua escolha acarretou um grande mal. Sabia que a sua alma também estava negra.
Parecia que todo o mosteiro era envolvido pelas forças do mal invisível.
Mas, para o abade, o fardo era maior. E muito mais pesado.
Umberto queria consolá-lo, chamá-lo. Mas não podia.
Estava muito cansado.
Seu corpo ficava cada vez mais pesado e o seu coração fazia um grande esforço para bater ritmado.
O monge-enfermeiro cobriu-lhe com um cobertor de lã de carneiro.
Umberto quis lhe agradecer, mas só conseguiu piscar.
O monge acendeu uma vela, fez uma prece e se afastou.
Umberto olhou a chama bruxulear. Percebeu que já era noite.
Viu sombras se desenharem na parede.
Viu demônios dançarem por entre as grossas colunas.
Estava muito cansado. Estava exausto.
Fechou os olhos e adormeceu.
Para nunca mais acordar.
.
.
.
Sinos...
Cinco badaladas...
Prantos...
Trovoadas.
.
.
.
Seu enterro foi debaixo de chuva.
Aguaceiro pesado, daqueles que gelam até os ossos.
As lágrimas, também abundantes, eram lavadas e se misturavam ao barro que cobria o esquife simples. Os monges gostavam de Umberto, sofreram com a sua perda, mas o abade Nicola tinha morrido junto com o amigo. Sua vontade estava dilacerada. E sua cabeça cada vez mais estranha.
Vieram as orações, vieram os sermões, mas as palavras pareciam não fazer sentido para o abade. Nada mais fazia sentido. Nem sequer os seus próprios pensamentos.
Estava confuso.
Um cão latiu, outros acompanharam com uivos chorosos.
Nenhum pássaro cantava. Aliás, não havia nenhum pássaro, apenas chuva, trovões e lama.
A liturgia da morte foi declamada mais uma vez naquele pequeno cemitério.
E Nicola podia jurar que ouvia gargalhadas trazidas pelo vento insolente, que levantava hábitos e fazia os ouvidos doerem.
Os irmãos se retiraram em silêncio, em fila, uma longa serpente marrom. Somente Nicola e o velho Vittore permaneceram como duas estátuas encapuzadas guardando o corpo do amigo, tais quais duas gárgulas de pedra.
A alma, eles esperavam que encontrasse o caminho da salvação.
– Paz para quem vai, provações para quem fica – disse Vittore tocando o ombro do abade.
O velho monge se afastou apoiado em seu cajado.
Passos arrastados e lentos.
Rastros encobertos pelo aguaceiro.
Nicola desabou de joelhos e beijou a lama.
– Que São Pedro lhe abra as portas do Céu, meu amigo – disse com o rosto sujo de barro. – Perdão. Perdão. Perdão...
Acariciou o barro como se pudesse tocar Umberto.
Mas sabia que somente seu corpo estava lá. Sabia que as larvas começariam a se banquetear em breve. E logo iria definhar, apodrecer até restarem somente ossos e vermes enovelados saindo pelas órbitas oculares vazias.
Estapeou o rosto, quis ser enterrado também, mas arrependeu-se.
– Idiota! – ouviu alguém zombar.
Olhou para os lados, mas não havia ninguém. Levantou-se com uma angústia nociva espremendo-lhe o peito e foi para a cripta da igreja.
Acendeu uma dezena de velas. Todas que ainda tinham pavio. Deitou-se com a testa no frio chão de pedra.
E rezou.
Só isso lhe restava.
Somente isso ele sabia fazer. Mas as orações não lhe trouxeram qualquer conforto. Confundiu-se em palavras que repetia várias vezes ao dia, durante décadas. A sua cabeça estava estranha.
– Idiota! – ouviu novamente.
Mas sabia que estava sozinho. Respirou fundo. Tossiu. Inspirou novamente.
Tinha raiva pelo que o maldito Ugo fizera. Mas se odiava por ter feito a escolha errada.
O Carnefice. Pensou.
E no fundo do seu coração, sentia que tinha ajudado a matar Balbina e agora o seu amigo.
Sentia-se um assassino. E suas mãos enrugadas também estavam sujas de sangue.
E a sua fé não era mais a mesma. A sua convicção não era a mesma.
Restava-lhe buscar alguma redenção.
Um perdão.
Que, talvez, nunca teria.
Lucio acordou sobressaltado com seu próprio ronco. Até o cavalo se assustou e, se não estivesse amarrado, teria fugido.
Lambeu os beiços e sentiu a boca amarga, cuspiu. Sentou-se com dificuldade, esfregou os joelhos rijos e viu que já amanhecera. A fogueira não passava de um monte de cinzas.
Limpou os olhos remelentos com as mãos e se espreguiçou ruidosamente.
O cavalo relinchou.
Descobriu que os pernilongos haviam lhe picado toda a pele descoberta. Suas mãos coçavam, seu rosto coçava e seus pés estavam cheios de pontinhos vermelhos.
– Ai Cristo! – falou irritado. – Por que o Alessio não colocou mais plantas na fogueira? Só porque ele não toma picadas, não quer dizer que ele não pode ser um pouco mais preocupado com os outros.
Permaneceu sentado por um tempo. Estava com preguiça.
Coçou os pés até fazer pequenas feridas.
Fechou os olhos, adormeceu de novo, sentado. Um filete de baba escorreu brilhante pelo canto da sua boca.
Roncou alto e o cavalo relinchou.
Lucio se assustou e balançou a cabeça para espantar o sono.
Deu uns tapas no rosto e ficou de quatro antes de levantar.
Soltou um peido por causa do esforço. Riu de si mesmo quando cheirou o fedor de ovos e repolhos.
– Esse foi poderoso – divertiu-se – O velho irmão Paulo diria que tinham aberto os portões do inferno e o enxofre havia escapado de lá.
Ajoelhou-se, espreguiçou e esticou os braços roliços. Coçou o barrigão e pensou se não era cedo demais, se não seria interessante mais uma soneca.
– Tome vergonha na cara, Lucio – ralhou com si mesmo.
Levantou-se com dificuldade, foi até o regato, de má vontade, e lavou o rosto.
Molhou os pés e a coceira se amenizou. Aliviou-se em uma arvorezinha próxima enquanto um esquilo o observava.
Abriu a mochila, pegou um dos odres de vinho e deu uns bons goles. Comeu os peixes que sobraram. Não se sentia satisfeito, mas quis guardar o resto da comida para depois.
Adubou uma moita e logo em seguida atrelou o cavalo à carroça.
Arrumou suas coisas.
Começou a suar pelo esforço. E seu hábito ficou encharcado.
– Aposto que ele já deve estar dormindo bem tranquilo no caixão – falou ajustando a mochila nas costas e pegando um pedaço de pau que lhe serviria de cajado. – O trabalho duro fica comigo – grunhiu. – Bem, Roma está longe e a estrada é longa, então se não tem jeito, vamos caminhar.
Voltou para a estrada e andou com o Sol da manhã esquentando-lhe a face. Cruzou com peregrinos, mercadores e até mesmo alguns soldados. Não foi importunado, seguiu tranquilo o seu longo caminho.
Ou melhor, não tão longo, apenas umas duas léguas e os seus pés já reclamavam e sua barriga gritava ensandecida.
– Eu sou um homem de ficar em um lugar só, não um viajante – resmungou ao parar debaixo da sombra de uma grande castanheira. – Só espero que em Roma eu consiga mesmo pagar os meus pecados.
Então, o cavalo lhe encarou por um instante, mas logo se abaixou e começou a pastar despreocupado.
Só não estava mais tranquilo, pois tinha que abanar o rabo e estremecer o couro constantemente, porque as moscas teimavam em pousar e pinicar um lugar muito particular.
– Dormiu bem? As peles estavam macias o suficiente? Sei que há algumas pulgas e carrapatos, mas não precisamos nos preocupar com isso, certo?
Alessio abriu os olhos e viu à sua frente uma jovem, com não mais que quinze anos, cabelos castanhos como o bronze e o rosto salpicado por um punhado de sardas. Apesar da penumbra, percebeu que seus olhos eram cinzentos, quase transparentes.
Vestia roupas boas, como as das filhas de condes ou dos mercadores napolitanos que, de tempos em tempos, vinham ao mosteiro trazer sal e mesmo algumas relíquias em troca do vinho.
– Esse é um pedaço do osso da clavícula de Santo Agostinho – falou o mercador para o abade. – Consegui diretamente com um cardeal muito amigo meu, vindo de Constantinopla. Vai abençoar o seu mosteiro e fazer as uvas crescerem cada vez mais doces.
Lembro-me do abade Nicola segurar o relicário de prata com extrema devoção e em troca dar três barris de vinho de uma safra ótima para o mercador, além de um saco com moedas.
– Que Deus abençoe a sua viagem – Nicola fez o sinal da cruz.
O mercador continuou seu caminho, com um grande sorriso no rosto, escoltado por meia dúzia de homens armados e com o saco de moedas amarrado ao cinto.
Sempre me perguntei se um osso podia valer tanto assim, mas nunca tive coragem de expressar essa dúvida para ninguém.
Mas isso não importava mais...
Uma garota reavivava a fogueira e as labaredas já estavam altas, deixando o antro com uma temperatura morna, agradável.
Sorriu e suas presas pontiagudas se evidenciaram.
– Não se preocupe – falou mostrando as palmas das mãos delicadas e finas. – Não vou lhe fazer mal. Aliás, nem sei se conseguiria... – colocou os cabelos volumosos para trás das orelhas.
– Quem é você? – levantei-me e olhei para o corredor, já imaginando uma fuga desesperada.
Mas por que eu fugiria de uma jovem, cacete? Pensei.
– Desculpe a minha falta de educação – disse estendendo a mão para me cumprimentar. – É que faz muito tempo que não recebo visitas. Sou Tita Domitius Lentiginius, sua criada. Mas pode me chamar de Raposa.
– Sou Alessio di Ettore – falei hesitante. – E pode me chamar de... Alessio – corei. – Não queria ter invadido a sua casa. É que...
– Eu sei, eu sei – respondeu com um sorriso. – Quando o Sol nasce é um Deus nos acuda, não é? – piscou.
Olhei para ela com as sobrancelhas franzidas.
– Não precisa desconfiar, meu amigo, somos da mesma laia.
– Não estou entendendo nada.
– Somos o mesmo tipo de criatura. Nem homem, ou mulher. Nem demônio, nem anjo... – disse com o olhar divertido. – Somos caçadores da noite.
– Eu não sei o que sou...
– Hum... Então as minhas esperanças em descobrir algo foram por água abaixo – gargalhou.
Até que a menina é bonita. Pensei.
– Eu estou tão confuso...
– Com certeza é por causa da sede – foi até o corredor. – Venha, vamos beber algo.
Segui-a ainda ressabiado.
Deveria ter corrido, sumido penhasco abaixo. Mas, sinceramente, não sentia medo. Não via qualquer ameaça naquela garota franzina e de pele tão clara que parecia ser feita de cal salpicado com barro vermelho.
Saímos da gruta e o ar fresco da noite me fez bem. Uma lufada úmida e revigorante. Estiquei a coluna e escalei a parede de pedra atrás da garota. Ela subia com uma agilidade impressionante, tal qual um gato escala um tronco de uma árvore.
Às vezes, ela parecia flutuar.
– Graciosa ela – sorri.
Quando chegamos ao topo, um grande planalto se abriu à nossa frente. E nele dormitavam alguns cabritos.
– Aqui está o nosso jantar – Tita abriu os braços e falou sorridente.
– Não... Pode beber você. Eu prometi nunca mais matar um animal – recusei a oferta.
– Matar? Quem falou em matar? – disse esfregando as mãos. – Vamos apenas pegar um pouquinho de sangue emprestado.
Então, algo estranho e ao mesmo tempo fascinante aconteceu. A garota assoviou. Não um silvo agudo, mas um som mais parecido com uma lamentação.
Os cabritos, um a um, deitaram e fecharam os olhos. E a nossa frente mais de 10 animais estavam imóveis, calmos.
– Pronto – disse contente. – Escolha os seus.
– Como você fez isso? – perguntei impressionado.
– Depois eu lhe conto... Eles não ficam calmos por muito tempo.
Então a garota bebeu de três animais jovens. E eu de mais quatro. Não queria sugar muito de cada um. Percebi, inclusive, que alguns já tinham furos recém-cicatrizados. Eles deviam servir de alimentação sempre que necessário.
Tita estava satisfeita e eu também.
Então, como se despertados de um sonho, os cabritos se levantaram e saíram andando calmamente para pastar mais adiante.
– Como você fez isso?
– Conforme os anos passam, vamos ficando mais fortes, mais rápidos, nossos olhos enxergam mais longe – limpou o sangue da boca. – E há um tempo, sei lá quando, eu descobri que conseguia fazer isso com os animais, o que é bastante útil.
A garota sentou-se em uma grande pedra. E olhou contemplativa para a Lua.
– Você só bebe sangue de animais? – perguntei.
– Não é linda? – disse sem tirar os olhos da prateada esfera. – Ela tem sido a minha companheira por muito tempo. Muito mais do que eu consigo contar...
Ela suspirou fundo, em um misto de admiração e tristeza.
– Não, Alessio, eu também bebo o sangue de pessoas – falou retomando seu semblante jovial. – E certamente é muito melhor que o desses cabritos. Mas, quando a sede aperta, nos viramos com o que temos, não é?
Concordei com a cabeça.
– E você consegue fazer as pessoas dormirem como os cabritos?
– Não. Já tentei, mas sequer consegui um bocejo. – riu. – Acho que ficaria fácil demais, até mesmo sem graça. Para não mentir para você, consigo ter alguma influência na cabeça de pessoas mais susceptíveis. Já ganhei muito dinheiro e favores dessa maneira. E também já dei boas risadas instigando estripulias, mas outra noite eu lhe conto mais sobre isso.
– Eu gostaria de ter esse poder – falei sincero.
– Quem sabe? Nada é impossível. Somos a prova viva disso – tocou o canino pontiagudo com o dedão. – Mas, e você? Há quanto tempo está nessa vida?
– Alguns meses – falei.
– É um bebê – riu. – Desculpe os meus modos. Rir faz bem para a alma, nos deixa jovens – dessa vez ela gargalhou até perder o fôlego.
Ela parecia ser meio doida, mas guardei esse pensamento para mim.
– Você é tão velha assim? Parece uma... Menina.
– Aparências. Não se atenha tanto a elas – estalou os dedos – Digamos que Gaius Julius Caesar ainda cagava nas pernas quando a escuridão me abraçou.
Eu não sabia quem era esse tal homem, mas não quis demonstrar a minha estupidez. O que importava era que ela deveria ser muito mais velha do que eu, apesar de ainda ser uma garota. Mas... Como?
– O importante é como se vive, não o quanto se vive – falou acariciando uma grande mariposa que pousou no seu braço. – Por isso que gosto de sempre conhecer novos lugares, respirar outros ares e provar sangues diversos.
– E o que faz aqui nessas cavernas? – perguntei.
– Aqui é uma das minhas dezenas de casas atuais, das centenas que já tive – respondeu atirando uma pedra no vale. – Eu tento manter um pouso seguro em cada região da velha Itália. Nápoles, Florença, Gênova, Roma...
– Você já esteve em Roma?
– Eu nasci lá – disse animada.
– Eu estou indo para Roma – falei, sem ainda ter certeza se devia confiar tanto em uma estranha.
– Mas ela é tão bonita – a cada instante eu me simpatizava mais com a Tita.
– A Cidade Eterna – disse rodopiando sobre a pedra, seu vestido parecendo flutuar. – Muita gente, sangues de todos os tipos, ruas fedorentas apinhadas de pessoas prontas para serem degustadas. Mendigos, prostitutas com seus perfumes inebriantes, nobres e o delicioso clero, velhos gorduchos e safados, com suas carnes macias e sangue doce devido aos longos anos de religioso ócio e de comidas fartas. Eu salivo só de pensar! – falou lambendo os lábios finos, mas bem feitos. – E a infinidade de sombras. As colunas imensas, os santuários e o Coliseu. Nem é preciso esconder os corpos, pois sempre há mortes por lá. Sejam por bebedeira, assassinatos ou mesmo em nome de deus.
Era difícil tentar imaginar uma cidade desse jeito. O local com mais gente em que estive foi no mercado de Bari quando fui acompanhar o abade na venda dos vinhos.
– Mas, diga-me, meu bom Alessio – sentou-se novamente. – O que vai fazer lá?
– Não sei ao certo... – respondi com sinceridade. – Algo no meu coração me diz que lá encontrarei respostas. Encontrarei quem fez isso comigo...
Repentinamente o local onde fui mordido começou a coçar.
Tita fechou um pouco o semblante e disse:
– Sinto lhe decepcionar, mas em todos esses longos anos que estive por lá, nunca vi alguém igual a nós. Aliás, vi somente o maldito que me mordeu, na fatídica noite, e nunca mais. Você é o primeiro imortal que encontro depois disso.
– Imortal? O que quer dizer com imortal?
– Que não morre – a garota riu.
– Isso eu sei – irritei-me.
– Você já reparou que nós nos machucamos e saramos rapidamente? – indagou. – Podemos quebrar ossos, rasgar a pele, até furar um olho, como já aconteceu comigo, e em instantes nos curamos? Às vezes demora um pouco mais, um dia, dois dias, uma semana, mas sempre ficamos inteiros e sem nenhuma cicatriz?
Tita mordeu o antebraço e arrancou um naco de carne. Era um ferimento feio, mas antes do sangue pingar no chão, a cura já havia começado.
– Sim. Já aconteceu comigo algumas vezes – prossegui. –A dor é a mesma, mas realmente sara mais rápido.
– Pois bem – disse estalando os dedos –, a não ser que o Sol lhe torre, ou alguém lhe arranque a cabeça, eu acho... Você vai viver para sempre, meu amigo.
O machucado já estava completamente curado.
A jovem Raposa começou a dançar, rodopiando, pulando a uma altura muito acima da minha cabeça.
Aquilo me pegou de surpresa. Já tinha percebido que eu sarava bem rápido, porém, ser imortal nunca tinha me passado pelas ideias.
– E quanto tempo faz que você virou isso?
– Hum... – coçou o queixo pequeno. – Faz um bocado de tempo. Aliás, pensando bem, faz tempo pra cacete. Aconteceu muito antes de adorarem ao tal Cristo crucificado. Em uma época que o mundo era um pouco mais divertido.
Agora eu entendi o quão velha ela era. Tinha mil anos de idade ou mais. E isso era um tempo que eu mesmo não conseguia imaginar.
– Jesus, Maria e José – falei com a mão na boca.
Tita gargalhou.
– Alessio di Ettore, você e eu somos como deuses. Senhores da noite! O tempo já não importa para nós.
– Isso é blasfêmia – resignei-me. – Só há um único Deus.
– Balela – zombou. – Esse deus que a igreja venera não passa de um ídolo de papel e de estátuas. Eu mesma nasci muito antes dele existir. E nunca o vi fazer nada. Nunca o vi defender um padre, bispo ou até mesmo um papa que suplicava para eu parar de sugar. Sim, meu amigo, somos deuses.
Bufei.
Virei as costas.
Pensei em ir embora.
Mas no fundo, mesmo eu querendo simplesmente negar tudo, o que ela disse tinha algum sentido.
Observei-a sem dizer nada. E percebi que seus olhos cinzentos, mesmo em um rosto jovem, aparentavam muita sabedoria.
– Vamos deixar de lado essa conversa sobre Deus? – pedi.
– Ó sim, claro – falou. – Desculpe a minha falta de jeito. É que não costumo conversar sobre isso. Ainda mais com um igual. Espero não ter lhe magoado.
– Não... – falei coçando a cabeça. – Apenas estou muito confuso.
– Eu lhe entendo. Nos primeiros anos dessa minha nova jornada, eu vivia perdida, com medo, até mesmo revoltada. Mas, com o tempo, as coisas começam se amenizar no nosso coração e a gente aproveita mais esse magnífico dom... – abaixou a cabeça. – Só sinto muita falta das pessoas que morreram.
– A sua família?
– Sim... E muitos bons amigos. E incontáveis amores.
A garota inspirou fundo.
– Enfim, não é momento para tristeza – disse recuperando o semblante lívido. – Como era o homem que lhe mordeu?
– Eu estava cagando nas calças de tanto medo – senti vergonha, mas prossegui. – Entretanto, lembro-me bem dele. Alto, bem alto, aliás, cabelos loiros compridos como os das mulheres e olhos que pareciam faiscar, brilhar como as estrelas.
– Hum – cutucou a orelha. – Ele não se parece com o que me mordeu. O meu algoz era um puta negrão, forte como um boi e quase careca. Devia ter mais de quarenta anos quando foi transformado, pois algumas rugas riscavam a sua testa. Ele se parecia muito com aqueles escravos capturados na África.
– Nunca vi um homem de pele negra.
– Eles são como a gente, exceto pela cor e pelo nariz que é mais achatado. Ah, os cabelos são bem encarrapichados.
– E você teve medo?
– Na verdade, eu tive sono – divertiu-se. – Acho que dormi de olhos abertos. Lembro-me do rosto dele como se estivesse envolto em fumaça.
– Ele simplesmente te mordeu e sumiu? – perguntei.
– Sim... E não – respondeu pensativa. – Tenho a impressão de que ele já me seguia há um bom tempo. Posso dizer que, de vez em quando, eu via seu rosto no meio da multidão, nos templos, nos mercados. Mas isso pode ser somente uma invenção da minha cabeça.
– Você acha que ele te escolheu?
– Pode ser... Nunca pensei sobre isso – chutou um besouro que passou perto do seu pé, fazendo-o se espatifar em uma pedra e formar um borrão de gosma. – A única coisa que tenho certeza é que ele me mordeu e eu virei isso.
– E depois?
Quando acordei, na noite seguinte, ou depois de algumas noites, sei lá, eu estava sozinha dentro do templo de Júpiter Stator.
– Júpiter?
– Sim, um dos nossos deuses antes do tal Messias.
– Acho muito confuso essa história de outros deuses...
– É que a igreja fez um ótimo trabalho para alienar as pessoas. Mas não se preocupe com isso, depois eu lhe conto umas histórias.
– Raposa... – disse pensativo. – Você sabe se todos os que são iguais a nós foram transformados? Será que ninguém nasceu assim?
– Uma boa pergunta... – mordeu o lábio – Nunca tinha pensado nisso antes.
– Talvez aqueles que nos morderam já nasceram com essa doença.
– Doença? Não, não, não, não, não. Acho que é mais uma bênção – sorriu. – Está certo que nos deixa limitados à noite, mas não é de todo ruim.
– Sinto falta do nascer do Sol.
– Eu também, mas tento não ficar pensando nisso. Depois de séculos de vida é fácil se entediar, desistir de tudo, sabe?
– E você já pensou em desistir?
– Sim, por diversas vezes – disse com a voz sem emoção. – Porém, no derradeiro momento, sempre encontro algo que me faz seguir em frente.
– Entendo – falei olhando para o chão. – Só espero ter essa mesma força.
– Vai ter – disse colocando delicadamente o braço em volta do meu ombro. – Agora, por que não continua a sua jornada? Tem um irmão gorducho acampado há algumas léguas ao norte. Aliás, uma companhia interessante para um senhor da noite. Um monge.
A garota gargalhou.
– Lucio. Eu me esqueci completamente dele – falei ao dar um tapa na minha testa. – O coitado deve ter achado que aconteceu alguma coisa comigo. Ah, e ele não é monge...
– Tanto faz! – ela ergueu os ombros. – Mas não se preocupe. Ele me pareceu bem contente com o seu odre de vinho. Não sei se está pensando em você.
– Menos mal... – sorri. – Você não quer vir junto?
– Ah! – esfregou as mãos. – Tenho algumas coisas para resolver por aqui. Contudo, pode ser que eu lhe encontre numa noite dessas.
– Como vai saber onde eu estou?
– Eu já conheço o seu cheiro – apontou para o nariz pequeno cheio de pintinhas. – E sei para aonde está indo. Então, se for para as nossas jornadas se entrelaçarem, nos veremos novamente.
– Nossa... – cheirei o sovaco – Eu fedo tanto assim?
Raposa gargalhou alto e os pássaros voaram de um arbusto próximo.
– Fede um pouco, mas meu nariz é muito sensível, como o dos cães.
Ela me deu um abraço e se despediu, descendo novamente em direção às grutas.
Isso foi gostoso. Pensei.
– Não se preocupe Alessio – a voz dela ecoou no ar. – Vamos nos ver novamente. Antes do que você imagina!
Gostei da garota e queria que ela me acompanhasse até Roma. Eu poderia aprender muito com ela. Porém, eu deveria continuar sozinho. Ou melhor, com o Lucio, que encontrei depois de correr um bocado.
– Está tudo bem? – perguntei ao tocar o seu ombro.
– Minha Nossa Senhora – Lucio gritou quase caindo para trás. – Puta que o pariu, Alessio!
– Vou deixar você terminar o seu serviço em paz – falei rindo. – Estou esperando na carroça.
O gorducho fez um último esforço e um jato pastoso caiu sobre o mato. Limpou-se com folhas macias e respirou aliviado. Ajeitou o hábito e voltou satisfeito para a carroça.
– Que susto você me deu! – esbravejou. – Isso não se faz, Alessio. Ainda mais quando estamos naquela posição. E se eu caio?
– Daí meu amigo – falei com um sorriso maroto –, teríamos que aguentar o fedor até achar um córrego.
– O leite que um fazendeiro me deu mais cedo não caiu bem – disse esfregando a pança. – Ou foram os bolinhos?
– Como cabe tanta comida aí dentro?
– Anos de treinamento – orgulhou-se. – Mas isso não vem ao caso agora – sentou-se em uma pedra. – Onde você estava?
– Por aí.
– Por aí... – balançou a cabeça. – Isso é resposta? E eu aqui preocupado. Achando que tinha acontecido alguma coisa, que um lobo tinha te comido, o Sol tinha te queimado, sei lá. Você precisa ser mais responsável.
– Que merda, Lucio, você está parecendo a minha mulher.
De repente uma saudade de casa apertou o meu coração.
– Sem problemas. Não falo mais nada – ele interrompeu meus pensamentos. – Se quiser sumir, que suma. Se quiser morrer, que Deus receba a sua alma. Eu não me importo! – balançou os ombros gorduchos.
– Prometo não desaparecer mais – falei. – É que aconteceu um imprevisto.
– Que imprevisto?
– Eu estava em uma caverna e não percebi que tinha amanhecido. Daí não pude sair e tive que dormir por lá.
– Mas quanta burrice, hein? E se não tivesse essa caverna? – apontou-me o dedo.
No fundo ele tinha razão. Eu precisava ser mais cuidadoso se quisesse continuar a jornada em busca das respostas. Também decidi não falar nada sobre a Raposa, pois não sei se ele estava preparado para mais essa novidade.
– O cavalo está descansado? – perguntei.
– Estamos parados desde o pôr do Sol – respondeu.
– Então, meu amigo, se ajeite para dormir ao lado do caixão que vamos andar mais um pouco – falei ao colocar a sua mochila nas costas. – Isso é, se você couber.
– Ah vá à merda – xingou-me sem os pudores que ele deveria ter.
Lucio subiu com dificuldade na carroça e se espremeu ao lado do caixão. Certamente era desconfortável, mas ele dormiu rapidamente.
Arranquei uma touceira viçosa de mato com facilidade e balancei-a na frente do focinho do cavalo.
Serviria para motivar o animal, que apesar de magricela, tinha vigor e saúde.
Uma coruja voou silenciosa sobre a minha cabeça.
Deu um rasante e pegou um ratinho na beira da estrada. O bicho morreu naquele instante.
Ela virou a cabeça e seus lindos olhos amarelos me encararam.
Levantou voo com o ratinho preso às suas garras.
Estava com uma refeição garantida.
Interessante como todas as criações de Deus vivem, trabalham e caçam para se alimentar. Desde a pulga que chupa o nosso sangue até seres como eu, que também dependem do sangue.
– Sou um concorrente da pulga – falei para mim mesmo.
Ri alto, mas mesmo assim Lucio não acordou.
E eu continuei tranquilo o meu caminho, pensando em pulgas, em tudo o que aconteceu e tendo como companhia o pangaré, a estrada e a Lua.
Pensei na Raposa.
Capítulo X – Um pouco de alegria
A barriga de Lino roncou.
Ele dormiu muito mal por causa do frio e do desconforto. Sua mão latejava e os insetos teimavam em pinicar suas orelhas e vasculhar as suas narinas.
Por diversas vezes acordou assustado com o vento assoviando por entre os galhos ou com o ruído de algum animal no bosque. Lembrava-se das histórias de espíritos e seres da floresta que os mais velhos contavam.
A diversão dos velhotes só podia ser deixar as crianças apavoradas.
Suas roupas estavam úmidas, sua manta estava molhada e até seus ossos doíam por causa da friagem matinal.
Esfregou os olhos. Sua mão ardeu.
Queria que tudo não tivesse passado de um pesadelo.
E que sua mãe estivesse cozinhando pinhas. Ele as comeria com mel. Podia até sentir o cheiro adocicado.
Imaginou o melado grudando no céu da boca.
Viu-se chupando o doce dos dedos.
Salivou.
Piscou, mas nada mudou. Continuava no bosque, molhado, com dor e com fome. Essa era a sua vida agora. E o passado nunca mais voltaria.
Sentiu vontade de chorar.
Seus olhos se encheram d’água.
Respirou fundo e engoliu a mágoa.
Isso não adiantava mais.
Não havia ninguém para lhe consolar e para lhe acalentar com um afago na cabeça.
Sua mãezinha estava morta.
Seu pai estava longe.
Seus amigos ficaram para trás.
Os monges eram maus.
E ele estava completamente sozinho.
Respirou fundo.
Estalou os dedos e sua mão ferida doeu de novo. Ela já não sangrava mais, mas demoraria uns dias para se curar completamente.
Apesar de jovem, era um menino esperto. Aprendera a se virar muito bem e sempre escutava as dicas dos mais velhos. Já sabia fazer fogo, caçar aves e rãs, e também conhecia a maioria das plantas comestíveis que brotavam por essas bandas.
Encontrou um pé de agrimônia. Pegou umas folhas e um pedaço de caule e mascou-os até formar uma pasta. Colocou sobre o ferimento e tornou a enrolar o curativo. Ardeu demais. Quis arrancar tudo e assoprar, mas conteve-se.
Cortou um ramo da planta e guardou no bolso.
Caminhou atento, olhando para o chão e para as árvores.
Depois de procurar um pouco achou uns morangos silvestres, uns nabos mirrados e um punhado de cogumelos. Comeu os morangos e um nabo, que estava muito amargo, mas serviu para enganar o estômago. O restante enrolou em folhas e guardou para mais tarde.
Colocou a manta nas costas, apalpou o saco, imitando um costume dos adultos e seguiu por dentro do bosque. Não queria ir pela estrada, pois achava mais seguro caminhar sob a proteção das árvores. Era mais fácil de se esconder, de correr, se precisasse.
Sabia que o monge maldito não estava longe. Pressentia isso no seu coração. E também sentia uma raiva sufocante. Queria se redimir e vingar a sua mãe. Depois da tragédia tinha chegado o momento de se tornar homem.
Nada mais de choramingos e nariz fungando.
Nunca mais ninguém lhe traria um pedaço de bolo de aveia antes de ir dormir. Tinha que viver sem isso.
Ele estava sozinho.
Ele viu sua mãezinha morrer como um bicho. Lembrou-se dos olhos esbugalhados e como ela desabou no chão com uma careta de dor, toda arroxeada.
Olhou para o curativo sujo. Fechou os olhos e viu com clareza a adaga ensanguentada, trespassada na sua mão.
Recordava-se da covardia. Mas seria a lâmina da sua faca que agora iria ditar as regras. Tocou no cabo frio. Fechou os olhos e viu com nitidez o rosto magro e esnobe daquele Ugo safado.
Apertou o passo.
Andou um bocado quando ouviu sinos badalarem as sextas. Pensou em um ensopado quente ou mesmo em um naco grande de pão ainda fumegando. Seu estômago roncou de novo, nervoso.
Entretanto, ele não queria mais nenhum favor de monges, padres ou quaisquer outros homens de Deus. Eles fizeram a sua mãezinha sofrer e ter um ataque do coração.
Roeu mais um nabo amargo e, por sorte, encontrou umas vacas pastando. Bebeu rapidamente o leite quente e grosso até se fartar. Disputou com um bezerro os deliciosos goles.
Contornou a igreja e o vilarejo ao redor de um lago, o que lhe tomou bastante tempo, mas evitou transtornos. Viu umas crianças brincando e sentiu saudades dos seus amigos, da vila e da sua casinha.
Lino não sabia para onde ir, mas não se sentia sem rumo. Ao contrario, algo lhe dizia que estava na trilha certa.
E assim prosseguiu.
Andava enquanto os pés aguentavam, descansava quando precisava. Vivia do que a mata lhe provinha e já não sentia mais medo ao dormir sozinho na escuridão da floresta.
Acreditou que sua mãe o protegia do céu. E isso o confortou.
Acendia fogueiras para afastar os bichos e os maus espíritos e contava histórias para si mesmo para diminuir a solidão. Fazia bonecos com gravetos e animais com pedrinhas.
E por três dias andou sem ter qualquer contato com outra pessoa.
Mas havia muita gente no mundo.
E seu caminho cruzou com o de outros e Lino descobriu que a sua jornada não precisava ser tão solitária e, de certa forma, podia ficar até um pouco mais divertida.
– Posso entrar, senhor abade? – Vittore falou ao se aproximar da porta.
– Sim, entre – disse Nicola sentado, segurando a cabeça com as duas mãos.
O velho monge trazia uma caneca com uma infusão de ervas calmantes. Sabia que o abade precisava relaxar um pouco os nervos e regular o fluxo de bílis negra. Durante os muitos anos que se conheciam, já tinham presenciado centenas de mortes, inclusive de muitos entes queridos como o irmão de Nicola, contudo, nunca o vira tão abalado. Desconfiava que o juízo do seu velho amigo estivesse minguando.
– Que grande perda tivemos – disse Vittore. – Umberto era um homem muito bom e verdadeiramente temente a Deus.
– Uma perda muito maior do que eu posso suportar – respondeu o abade com os olhos vermelhos. – E tudo por minha culpa.
– Isso é mentira, reverendo Nicola – Vittore disse com a voz grave. – Nós concordamos com você, decidimos juntos.
– Eu fiz muita pressão – exasperou-se. – Não dei mais tempo para vocês... Umberto não teve... Tempo...
O abade começou a chorar e Vittore se manteve quieto ao seu lado. Há momentos em que nenhuma palavra pode servir de consolo.
Demorou um pouco, mas o abade Nicola retomou a compostura.
– Pelo menos, os monges não estão ligando a morte de Umberto à Alessio – disse respirando fundo. – E também conseguimos ser bem discretos com a morte de Balbina.
– E os trabalhadores pensam que Lino foi viver com parentes em Florença – completou Vittore.
– Sim, sim. Isso não é uma benção? – ironizou o abade.
– Deus sabe o que faz – falou o Vittore com severidade. – Mesmo que discordemos dos seus desígnios, ele sempre está certo.
– Será mesmo?
– Não perca a sua fé. Você verá que no final, tudo seguirá a ordem do Nosso Senhor.
O abade bebeu toda a infusão e bateu a caneca na mesa.
– Queria ter a sua convicção. Mas uma sombra envolve a minha alma.
– Então reze e peça luz – falou com vigor. – Peça orientação aos santos. Mas peça de coração aberto.
– É o que me resta...
– Vou deixar você descansar, meu amigo – disse o velho monge. – Você precisa se recuperar, alinhar a sua mente, pois logo chega a Páscoa e haverá muitos preparativos a serem feitos. Enquanto isso reze. E confie.
Nicola nada disse.
Vittore se afastou lentamente.
O abade olhou para a imagem da Virgem Maria sobre a sua mesa. O rosto piedoso parecia compreendê-lo. Pegou-a com cuidado. Acariciou o seu rosto e beijou-lhe as mãos. Olhou-a de novo com devoção.
Colocou-a no lugar, mas ela caiu no chão e quebrou-se em dezenas de cacos disformes.
Nicola esbugalhou os olhos. E soltou um grunhido sofrível. Acuou-se em um canto do seu aposento e colocou as mãos trêmulas na boca.
Sentiu-se enojado. Vomitou o caldo esverdeado da infusão.
Fraquejou, sentiu calafrios e suas mãos tremiam incontrolavelmente.
Não conseguia respirar direito. Algo parecia apertar o seu peito, não deixando os pulmões abrirem e fecharem livremente.
– Santo Deus... – murmurou.
Sabia que isso era obra do Diabo. Sabia que o mal se instalara no mosteiro.
E que Lúcifer e sua horda de demônios deviam estar zombando dele.
Fez o sinal da cruz.
Tentou dizer uma prece, mas sua voz não saiu. Teve uma vertigem.
Deitou-se. Ouviu gargalhadas. Ou imaginou gargalhadas?
Fechou os olhos e tapou os ouvidos. Vultos à frente dos olhos. Algo frio tocava a sua pele enrugada.
– Os demônios de Satanás estão aqui – ofegou.
Seu estômago continuava embrulhado. Tentou se acalmar e normalizar a respiração. Inspirou e expirou lentamente.
As gargalhadas cessaram. E o silêncio ecoou pelas paredes grossas do mosteiro.
Alessio e Lucio estavam a menos de um dia de distância. Ugo descobrira conversando com um frade esmoler que encontrou no caminho. Ele cruzara com Lucio e lhe dera um pouco de carne salgada, pois o gorducho lhe jurou que não comia decentemente há dias.
– O pobre homem quase chorou ao falar da sua fome – contou com complacência. – Eu tinha um pouco de carne de cabra salgada e lhe dei metade. Não acredito que alguém com aquele corpo roliço passe fome, mas quem sou eu para julgar.
Talvez a lâmina devesse conversar com o glutão. Ele se endireitaria num piscar de olhos, iria rejeitar as carnes mais macias e os bolos mais doces. Certamente era do tipo que se entregava de corpo e alma com apenas uns poucos arranhões, divagou Ugo.
– E ele estava sozinho ou acompanhado? – retomou a conversa.
– Bem, quando eu o vi ele estava sozinho – falou limpando o suor da testa. – Ele, seu cavalo e uma carroça com um baú estranho, comprido como um caixão – benzeu-se.
Ugo sabia que não era um baú e sabia que Alessio dormia naquele caixão durante o dia.
O povo não percebe isso, pois é simplório demais. Pensou.
Estava feliz. Logo sua sagrada missão se cumpriria e o mal seria extirpado da terra.
E não falharia como outrora.
Despediu-se do frade, tocou com os calcanhares na anca do seu belo cavalo e ele começou a trotar. A poeira levantou-se na estrada atrás deles.
A notícia lhe trouxe mais ânimo e também uma fome incômoda, talvez pela ansiedade.
Resolveu parar em uma cidade chamada Potenza. Havia uma igreja ao norte, entretanto, Ugo preferiu entrar em uma estalagem e comer por lá mesmo. Não queria perder tempo com conversas inoportunas com os padres de lá.
Sentou-se em uma mesinha no canto e um velho manco veio atendê-lo.
– A sua benção – curvou-se.
– Deus lhe abençoe – respondeu metodicamente.
– Deseja comer alguma coisa?
– Sim e me traga um pouco de vinho.
– A minha mulher preparou ovos mexidos com vagens e ainda há uns pedaços de pancetta.
– Pode trazer – disse ao colocar sobre a mesa três moedas de cobre.
O velho pegou as moedas, fez uma mesura e se afastou manquitolando.
Pouco tempo depois, trouxe a generosa refeição e uma grande caneca de vinho. Ugo comeu em silêncio e com a rotineira calma.
Bebeu seu vinho, que era muito inferior ao do mosteiro do abade Nicola, mas serviu para molhar a garganta. Jogou os restos para um cão que aguardava pacientemente deitado ao seu lado.
Limpou a boca na manga do hábito e levantou-se.
Estava quase na porta quando seu olhar cruzou com o de uma prostituta que acabara de chegar.
Era morena, pele queimada de sol e os olhos verdes-escuros como as folhas das árvores, contornados por cachos rebeldes pretos como o carvão. Não era linda, mas era atraente.
Apesar de esguia, e mesmo com o vestido folgado, seus seios pareciam ser fartos. Mas foi o comportamento atrevido e o olhar insinuante que instigaram Ugo.
Ela encarou o monge e deu um sorriso quase tímido, mordendo suavemente o lábio inferior. E a isca pegou o peixe facilmente, pois Ugo retribuiu o sorriso e se aproximou como um lobo espreita um cordeiro.
Sentiu o perfume adocicado.
E sem dizer nada, fez um gesto com a cabeça e ela lhe acompanhou.
Atirou dois denari para o velho manco e subiu pela escada de madeira.
Ugo, apesar de ser um homem de Deus, era muito experiente nessas coisas mundanas. Sua vida como soldado lhe permitira saborear as mais variadas carnes. Sabia o que fazer. Já tinha feito por dezenas de vezes, mesmo depois de abraçar a Igreja, por isso tantas cicatrizes na pele.
Entrou em um dos quartos com a porta aberta.
Ele cheirava a fumaça e umidade. Um gato dormia tranquilamente em um canto e nem se preocupou em abrir os olhos para ver quem chegava.
Foi a prostituta que ronronou e adentrou o recinto logo em seguida.
– Qual é o seu nome, querido? – piscou.
– Nada de nomes – falou sério. – Apenas dispa-se.
Ela sorriu e começou a se livrar do vestido enquanto o monge tirava o hábito e evidenciava um pau fino e já rijo. A mulher se demorou com os cordões, excitando ainda mais os desejos.
A prostituta encostou a porta e se aproximou lentamente, com o corpo sinuoso tal qual uma víbora. Seus olhos verdes-escuros transmitiam desejo e ardor.
Porém, foi Ugo que deu o bote e beijou-a no canto da boca, com delicadeza. Ele aproveitou para acariciar os seios fartos, deliciosos e brincar com as auréolas escuras e os bicos intumescidos.
Ele sabia o que fazer.
O prazer e a dor. Sensações distintas, que podem ser úteis na mesma medida, pensou.
Tocou na virilha da mulher e seus dedos se perderam nos tufos de pelos ásperos. Ela fechou os olhos, gemeu baixinho e beijou-o com vigor.
O monge brincava com a mulher e ambos se divertiam.
Ugo colocou a mão sobre a sua cabeça e abaixou-a suavemente. A prostituta obedeceu, submissa, prostrando-se de joelhos e lambendo o peito, a barriga, até abocanhar a haste do monge, que gemeu de satisfação.
Ela era uma profissional e cuidou muito bem da situação, lambendo na medida certa, mordendo até causar uma aflição prazerosa, acariciando as bolas com a mão macia.
Ugo a segurou pelos ombros e a atirou no velho colchão estendido no chão.
E num piscar de olhos, estava sobre ela, sugando seus mamilos com voracidade, explorando com os dedos a intimidade úmida.
Ela parecia gostar.
Mas era uma profissional. E ele nunca saberia a verdade. Contudo não se importava. Nunca se importou com esses detalhes.
Penetrou-a de uma vez e a prostituta soltou um gritinho rouco, mas logo já mexia os quadris em um ritmo perfeito, aprimorado por anos de labuta.
A respiração de Ugo ficou mais forte e as estocadas mais profundas. Ela gemia no seu ouvido e ele mordiscava seu pescoço, deixando marcas.
Ela riu. Sabia que estava fazendo um ótimo trabalho. Podia sentir a fricção ficar mais intensa. Puxou o monge para si, arranhando as suas costas. Ugo chupou novamente o bico do seio esquerdo, dessa vez com muita força, machucando-a.
Mas a prostituta não protestou, ao contrário, sorriu. Sabia que logo tudo acabaria e ela seria bem paga. E esses pequenos desconfortos não eram nada demais.
Era a melhor profissional de Potenza.
Ugo pegou a mão da mulher e colocou-a sobre a sua bunda ossuda, entre as nádegas. Ela abriu os olhos, mas nada disse. Sabia o que tinha que fazer. Já fizera isso algumas vezes.
Então sem hesitar, meteu o dedo médio no seu cu. Ele estocou mais forte e fez um som parecido com um rosnado. As coxas dos amantes batiam fazendo um som abafado. Gotas de suor brotaram na testa do monge, que continuava o trabalho com os dentes cerrados.
A prostituta foi o mais fundo que conseguiu, fazendo movimentos rápidos dentro dele.
Ugo rosnou mais alto e apertou o seio esquerdo com força. Ela, experiente, deu um tranco para cima com o quadril, no momento exato. Sentiu o jato quente escorrer pelas coxas e sorriu. Tinha feito um bom trabalho e ele nem perceberia esse artifício.
Eles nunca percebiam.
Ugo caiu de lado, ofegante, suado e satisfeito. Suas costas arranhadas ardiam.
Por um tempo continuou acariciando os pelos crespos da prostituta. Que fingia mais prazer do que realmente sentia.
– Você pode ir agora – Ugo falou recobrando o fôlego. – Levantou-se, foi até o hábito, pegou uma moeda de prata e entregou para a prostituta.
Ela sorriu, pois era mais do que a maioria dos homens pagava.
Vestiu-se sem se preocupar em amarrar os cordões do seu vestido.
– Sempre que precisar é só procurar por mim – falou acariciando o rosto fino, tocando-lhe os lábios com o dedo que o enlouquecera.
Saiu do quarto, encostou a porta, mas nem chegou a descer as escadas. Um mercador, freguês antigo, abraçou-a pela cintura e levou-a para o quarto ao lado.
Logo os sons da paixão começaram. Guinchos abafados pelas paredes de madeira, palha e barro.
Mas nada que incomodaria o seu sono. Ele estava exausto, dormiria um pouco antes de continuar a viagem.
Porém, antes de repousar, pegou sua adaga e fez um corte logo abaixo do umbigo. O sangue escorreu e se empapou nos pelos fartos da sua virilha, escorrendo em um filete pelo membro flácido.
Fez uma prece. Pediu perdão pela fraqueza da carne.
Adormeceu e sonhou com a prostituta.
Embalado pela música do quarto ao lado.
Um pouco antes dos primeiros raios de Sol surgirem, eu chamei Lucio. Ele virou de lado e começou a roncar novamente. Cutuquei-o e ele nem se mexeu. Então peguei um pouco de água em uma poça adiante e joguei no seu rosto redondo.
– Puta que o pariu, Alessio – levantou com um pulo. – Isso não é coisa que se faz com um cristão! Por que não me chamou? Precisa de uma sacanagem dessas? Deus está vendo.
Não resisti e caí na gargalhada. Era engraçado ver o gorducho com a cara vermelha e os olhos cheios de remelas.
– Eu tentei te chamar – falei engolindo o riso –, só que você não acordava.
– Não conte essas mentiras – retrucou. – Eu tenho o sono levíssimo.
Novamente ri como há tempos não ria.
E aos poucos a raiva de Lucio passou e ele começou a rir também.
Sua barriga protuberante subia e descia em um movimento engraçado, como se tivesse vida própria.
Então, quando nós dois recuperávamos o fôlego ele soltou um peido ruidoso, daqueles que começam agudos, comprimidos e terminam em um tremular pastoso.
– Opa – falou correndo para o mato. – Acho que preciso fazer umas orações.
Lucio se embrenhou bosque adentro e parou atrás de uma oliveira. Agachou com dificuldade, tendo que se segurar no tronco nodoso para não cair.
Mesmo eu estando a mais de 30 passos, consegui ouvir o barulho característico, entremeado por peidos úmidos. O fedor logo se impregnou nas minhas narinas sensíveis.
Cuspi.
A noite chegou ao fim e o céu começou a se avermelhar.
– Vou dormir – gritei para ele. – Bom trabalho por aí – ironizei.
– Ah, vá à merda – respondeu com a voz apertada de quem faz esforço.
Acariciei o cavalo e entrei no caixão no exato momento em que o Sol se agigantou no horizonte.
Mais umas risadas escaparam e eu adormeci alegre.
Como há muito tempo não acontecia.
– Ei moleque – alguém chamou.
Lino tomou um susto e sacou a sua faca. Queria mostrar que não era um menininho indefeso.
– Calma aí – um garoto maltrapilho um pouco maior que ele surgiu detrás de uma árvore. – Abaixe essa faca.
– Vá embora – Lino deu um passo para trás. – Não tenho nada para você!
– Por que você está tão irritado? – aproximou-se colocando a mão no bolso. – Acho que você está com fome. Tome, pegue esse pedaço de queijo. Ainda está macio.
A boca de Lino se encheu d’água, pois, apesar de não estar faminto, os alimentos que achava na floresta não eram tão gostosos.
Hesitou.
– Vamos, pegue. Está fresquinho!
Ele pegou o queijo e enfiou tudo na boca, ainda sem abaixar a faca. Mastigou vorazmente, com esforço, engasgando algumas vezes. O garoto apenas o observava com curiosidade.
– Gostoso, não é?
Lino assentiu com a cabeça, as bochechas estufadas e vermelhas.
– Acabei de roubar. Mas não vão sentir falta.
Lino sabia que roubar era errado, mas como ele havia ganhado o bocado não sentia culpa. Além do que, o petisco estava delicioso.
– Meu nome é Mario, mas pode me chamar de Chulé.
Lino soergueu as sobrancelhas e não se conteve.
– Chulé – disse com a boca cheia. – Que apelido engraçado.
– Meus amigos dizem que onde eu piso descalço, a grama não volta a nascer – divertiu-se. – E se eu puser o pé na água, todos os peixes do rio morrem sufocados.
Os dois meninos se entreolharam e riram. Lino cuspiu uma massa amarela pegajosa na mão e começou a se contorcer, até perder o fôlego.
Ficou assim por um bom tempo.
Parecia que não ria há anos.
Tossiu.
Enxugou as lágrimas.
Respirou fundo e se acalmou.
– Meu nome é Lino – falou guardando a faca e colocando novamente a massa na boca, engolindo o restante do queijo. – Desculpe eu ter sido rude. Aquele queijo estava ótimo. Não aguentava mais comer castanhas, nabos e cogumelos.
– Ah, deixa disso. Você estava apenas desconfiado – Mario falou coçando os cabelos encaracolados da cor de barro. – Eu também ficaria se estivesse sozinho.
– Eu nunca fui tão longe de casa sem o meu pai.
– E onde você mora? Está fugindo? – deu uma piscadela.
– Moro perto de Bari – respondeu com uma ponta de saudade.
– Hum... Você já andou um bom pedaço mesmo – falou Mario. – E o que você está fazendo por aqui sozinho?
– Estou procurando alguém.
– Quem?
– Um monge – respondeu fechando a cara.
– Eita – Chulé fez uma careta. – Passam tantos monges por essa estrada. Como ele é?
– Hum... – Lino coçou o nariz. – Ele é bem magro, alto, tem umas cicatrizes nas mãos e uma boca fina. Ah, ele tem os cabelos pretos como carvões e os olhos azuis da cor do céu. E... – gaguejou –, o seu rosto é mau.
– Não me lembro de ter visto nenhum homem assim – falou Mario. – Apenas uns velhos corcundas, um careca que andava com uma bengala e um bem gordão que tinha uma carroça. Desse eu consegui pegar um odre de vinho sem que ele percebesse.
Lino ficou cabisbaixo, pois o menino não tinha visto o monge que ele procurava.
– Não fique triste – falou o outro colocando o braço em volta do seu pescoço. – Vamos perguntar para a turma. Quem sabe alguém o viu. Eles andam muito por essas bandas.
– Que turma?
– Você vai ver – falou Chulé caminhando com Lino para o bosque. – Por que você quer achar esse monge?
Lino respirou fundo, olhou para o chão e contou toda a sua história durante o caminho.
E Mario teve que parar por diversas vezes para enxugar as lágrimas, pois se lembrava claramente do momento em que sua mãezinha foi morta pelos soldados do barão cujo nome ele se esqueceu. Logo sentiu que seria amigo de Lino e que, juntos, iriam encontrar o safado. Pois, nenhuma mãe deveria morrer tão assustada.
E ninguém deveria ficar impune depois de fazer o coração de uma boa mãezinha explodir no peito.
Permaneceram calados o restante do percurso. Logo iria escurecer.
Então, Mario quebrou o silêncio.
– Chegamos – falou contente.
Deram mais uns passos e uma pequena clareira se abriu. Havia uma cabana velha, uma fogueira assando algo que parecia um coelho e quatro crianças que brincavam despreocupadas.
– Ei seus fedidos! – gritou Mario. – Temos visita.
– Óia, o Chulé fez um amigo – falou o menorzinho, que aparentava ter uns cinco ou seis anos.
– Ele parece ser legal – disse a única menina.
– Eita, esse coelho não vai dar para todo mundo – disse o mais gordinho, batendo a mão na testa.
– Larga a mão de ser guloso, Pança – ralhou um garoto magro como um graveto. – Nem que tivesse um boi assando você estaria contente.
– Pelo menos eu sou forte – disse o menino rechonchudo. – E você que parece uma lombriga.
O garoto magro avançou no gordinho, que já esperava de punhos cerrados.
– Parem com isso, seus putos – gritou Chulé. – É assim que vocês recebem um novo amigo? Que coisa feia!
O menino interrompeu o ataque e o outro foi se sentar ao lado da fogueira.
– Não ligue para eles – disse Mario tocando o seu ombro. – São meio esquentadinhos, mas são bons. São a minha família agora. E se quiser, você pode ficar conosco.
– Mas eu tenho que encontrar o monge – falou Lino.
– Calma – disse Chulé. – Ele não vai sumir e também temos que perguntar se alguém o viu. Eu vou te ajudar nisso. Não se preocupe tanto.
Os dois novos amigos andaram para a clareira e a turma veio cumprimentar Lino.
– Oi, eu sou Tonina – disse a menina espevitada e com os cabelos da cor do trigo, amarrados em duas tranças grossas. – Espero que você goste daqui.
Lino deu um sorrisinho envergonhado.
– Eu sou o Tullio – disse o menorzinho –, mas todos me chamam de Arroto. Quer ver o que eu sei fazer?
Então o garotinho engoliu o ar e soltou um arroto desproporcional para alguém do seu tamanho. Os meninos riram e Tonina fez uma careta de desaprovação.
– Porco – falou tapando o nariz. – Que cheiro de leite azedo!
O menininho começou a pular orgulhoso.
– Esse foi dos bons – disse o gordinho se divertindo. – Eu sou o Pedro.
– Pança – os três garotos gritaram em uníssono.
– Vão tomar no cu! – xingou. – Vocês são uns merda de bode.
Nem a garota conseguiu segurar o riso por ver o amigo nervoso.
– Lino seu nome, não é? – falou o garoto magro. – Eu sou Ruggero, mas pode me chamar de Tripa que eu não ligo.
– E você tem um apelido? – perguntou Chulé para Lino.
– Bem... não.
– Hum – limpou os dentes com a unha. – Vai precisar de um. Pensaremos nisso depois. Agora venha, vamos roer algo.
Então Lino e seus novos amigos comeram o coelho, uns pedaços de pão seco e beberam o vinho que Mario roubou do monge gordo.
Cantarolaram meio bêbados em volta da fogueira e contaram histórias de terror.
E, quando a Lua começou a despontar no céu, entraram na velha cabana e se arrumaram sobre a palha úmida.
Começou a chover e Lino ficou feliz por ter um teto que, apesar de cheio de goteiras, era melhor que a proteção das árvores.
Pensou na sua mãezinha, no seu pai e no monge maldito e, mesmo com a dor da lembrança, seu coração estava mais leve.
Pela primeira vez nesses dias, conseguiu dormir e não ter pesadelos.
E, de certa forma, sentiu-se em casa.
Capítulo XI – Momento esperado
Escutei com atenção de dentro do caixão abafado e, como tudo estava silencioso, abri a tampa com cuidado. Espiei lá fora. Escuridão completa. Meus olhos demoraram poucos instantes para se acostumar à falta de luz e logo estavam aguçados como sempre.
A carroça estava parada em uma cocheira fedorenta, com o chão coberto de merda e palha úmida. Havia dois asnos e uma vaca comendo um punhado de feno novo.
Uma porca gorda estava estirada no chão enquanto oito porquinhos sugavam vorazmente as tetas cheias de leite. Eles sequer se incomodaram com a minha presença e continuaram a sua batalha pelo alimento.
Olhei ao redor e não vi ninguém. Sai da cocheira debaixo de uma chuva incômoda.
Corri até a estalagem, que estava praticamente vazia. Esperava encontrar Lucio, mas não o vi sentado em nenhuma das mesas compridas.
– Ei meu amigo – falei ao me aproximar do taverneiro –, você não viu um monge gordo por essas bandas?
– Ah sim – respondeu com um sorriso quase banguela. – Ele está lá em cima dormindo. Dá para ouvir os roncos daqui. E você deve ser o Aleggio.
– Alessio.
– Sim claro – balançou a cabeça. – Estou ficando caduco – riu. – Ele me disse que você viria procurá-lo. Quer subir?
– Não, obrigado. Ainda preciso fazer algumas coisas.
A sede apertou.
– Então pelo menos tome um caldo quente de peixe – disse já pegando uma tigela de barro. – É bom para tirar o gelo dos ossos.
– Agradeço, mas comi algo antes de chegar aqui. Agora se me dá licença...
– Como quiser, Aleggio – guardou a tigela. – No que precisar é só procurar por mim.
Sai novamente para a noite molhada.
Precisava umedecer a garganta ressecada. Esperava encontrar um pescoço desavisado. Todavia, as ruelas enlameadas estavam desertas. As portas dos casebres estavam fechadas. E eu não queria recorrer à vaca na cocheira. Não ainda.
– Que merda de lugar vazio – praguejei.
Andei pelo vilarejo. Nenhum bêbado sequer caído pelos cantos. Nenhuma prostituta, nenhum ladrãozinho oportuno. Até os ratos estavam escondidos em suas tocas.
Nada...
Somente água e lama.
Estava perdendo as esperanças. Estava encharcado e irritado. E já pensava na vaca, pois a sede agora doía. Mas meus ouvidos aguçados captaram sons muito sutis, distantes.
Virei a cabeça e andei devagar. Os sons ficavam mais nítidos a cada passo. E mesmo abafada pela chuva e pelos trovões, a música era linda.
Guiado pela melodia, atravessei uma ponte sobre o rio, que corria forte por causa da chuva. As tábuas estalaram sob o meu peso.
– Se caio daqui, vou parar lá no oceano – falei.
Caminhei pela trilha escorregadia, enfiando até os joelhos na lama.
Levei um tombo, sujei-me todo, mas isso não importava, eu precisava chegar àquela casa.
O fogo ainda ardia e a porta da construção de pedra estava aberta. Ela ficava afastada do vilarejo, em meio a uma plantação de trigo.
Um cachorro correu na minha direção. Retesei os músculos, esperando uma mordida, entretanto, ele apenas me cheirou, ganiu e correu para debaixo de uma carroça.
Ou eu estava fedendo demais, ou ele pressentiu algum mal. Acho que as duas coisas.
Mais uns passos e cheguei a casa. Um relâmpago iluminou tudo com um clarão azulado. E logo veio o trovão quase ensurdecedor. E depois outro.
Encostei-me ao lado da porta e hesitei em olhar para dentro. Agora a música estava clara, nítida perfeita. Uma viela de arco tocada de uma maneira muito mais bonita do que eu já tinha ouvido nas feiras. Muito mais envolvente do que as músicas feitas pelos menestréis embriagados.
Com cuidado dei uma olhadela lá dentro. E vi um jovem tocando seu instrumento. Ele observava para a porta, mas não me viu.
Parecia não haver mais ninguém na casa.
Espiei novamente e pude perceber algo estranho nos seus olhos. Eles eram leitosos e se mexiam de um jeito diferente.
– Ele é cego – sussurrei. – Isso torna as coisas mais fáceis.
Entrei pé ante pé na casa.
Seria um bote rápido. O garoto nem saberia como morreu.
Sangue fresco, molhando os lábios.
Doces ilusões!
– Ei, quem está aí? – perguntou interrompendo a música. – Eu posso ouvir a sua respiração.
Não falei nada, apenas esperei. Os ouvidos do garoto eram incríveis.
– Se veio roubar algo, vai ser decepcionar – disse convicto. – Temos apenas um caldeirão, um pouco de carne defumada e essa velha viela.
– Não vim lhe roubar – falei sem saber o porquê.
– Então o que faz aqui?
– Vi a porta aberta e... – engoli em seco – pensei que poderia me abrigar da chuva.
O garoto ficou em silêncio.
– Então chegue perto da fogueira para se secar – disse amenizando sua fronte. – Tem um pouco de caldo de cebolas no caldeirão, se quiser esquentar o estômago.
– Agradeço.
Ele pegou o seu instrumento e continuou com a música. A sede estava ficando intensa, mas eu estava incerto se iria matá-lo.
A triste melodia me embalou, tocou fundo no que restou da minha alma e, por um tempo que não sei quantificar, minha mente viajou de volta ao vinhedo, de volta para a minha casinha, de volta para a minha família.
Ouvi a risada de Lino e senti o abraço forte de Balbina. Uma lágrima fria escorreu pelo meu rosto. Limpei-a com as costas da mão e essa se pintou de vermelho.
E o meu coração ficou espremido entre farpas. Gelado, vazio...
O garoto terminou a música.
Eu estava arrasado.
Pelo que eu perdi.
E pelo que eu talvez fosse fazer.
.
.
.
– Gostou da música? – ele perguntou pondo a viela de arco em cima de um baú.
Respirei fundo.
– Muito... – respondi com a voz embargada. – A mais bonita que já ouvi.
Ele sorriu.
– Fico feliz. Esse é um dom que Deus me deu – disse ao se levantar e servir-se do caldo de cebolas. – Nasci cego, mas meus ouvidos são bons e minhas mãos são ágeis.
– E você mora sozinho?
– Moro com meus pais e o meu irmão Antonino – disse após enfiar uma colherada do caldo na boca. – Meus pais foram para Nápoles vender o nosso trigo. E o meu irmão deve estar na estalagem enchendo a cara como faz todas as noites.
– E você fica para cuidar da casa?
– Eu fico porque só atrapalharia durante a viagem – respondeu com uma pontada de tristeza. – Mas reclamar de nada adianta. Agora me diga, quem é você?
– Sou apenas um andarilho que está indo para Roma. Alessio é o meu nome.
– Então, Alessio, pelo que eu ouvi falar, você ainda vai precisar caminhar um bocado.
– É...
– E o que vai fazer por lá?
– Tenho alguns assuntos para resolver – desconversei, mesmo porque nem eu estava certo sobre o meu destino.
– E já tem onde passar a noite? – perguntou cortando um naco de carne defumada.
– Vou procurar alguma estalagem no vilarejo logo adiante.
– Se quiser, pode ficar por aqui. – disse. – É bom ter alguém para conversar de vez em quando. E sinto que você é um bom cristão.
Já fui melhor. Pensei.
– E o seu irmão? Ele não vai achar ruim?
– O Antonino? – empertigou-se. – É bem capaz que ele nem volte para casa. Ele é um bêbado. Só sabe se entregar ao vinho e me espancar quando escondo o pouco dinheiro da nossa família. Ele já foi açoitado por roubar moedas na igreja.
– Se ele te bater, revide! – falei lembrando-me do conselho que meu pai me deu quando apanhei de um moleque que queria roubar os meus peixes. Nunca fui brigão, mas nunca mais apanhei sem pelo menos dar um murro em alguém. E ensinei isso também para o meu querido Lino.
– Mas como? Ele tem o dobro do meu tamanho. E eu não enxergo... – entristeceu-se e calou-se por um tempo. – Mas eu não tenho raiva dele – retomou a serenidade – Apesar de tudo, o meu irmão trabalha duro na fazenda, quando não está caído pelos cantos. Rezo todas as noites para ele se endireitar.
E assim a conversa prosseguiu noite adentro. A sede judiava, mas resolvi não matar o garoto.
Ele era um bom menino e não merecia esse trágico fim.
Despedi-me quando a chuva acalmou.
– Não quer mesmo ficar? – perguntou.
– Agradeço, mas vou seguir o meu caminho – respondi.
– Que Deus lhe acompanhe na sua viagem – falou quando eu parti. – E quando voltar, passe por aqui se precisar de um teto para dormir.
– Amém. E muito obrigado.
Voltei pela mesma trilha. O cão ainda estava escondido debaixo da carroça e sequer latiu quando me viu. Apenas escondeu a cabeça entre as patas e se manteve imóvel.
E eu pensava somente na vaca, em como fazer para evitar que os mugidos acordassem todo o vilarejo.
– Merda, o couro dela não deve ser tão fácil de furar com uma dentada – cocei a cabeça.
Continuei pelo caminho enlameado quando vi, atravessando a ponte, um homem cambaleante.
Por duas vezes ele precisou se segurar para não cair. Debruçou-se sobre o parapeito e colocou a cabeça entre os braços. E assim ficou, como se dormindo em pé.
Aproximei-me e cutuquei-o no ombro.
Ele levantou a cabeça, com uma expressão de quem iria vomitar e continuou me olhando sem dizer nada.
– Você é o Antonino? – perguntei.
– Quem quer saber? – sua fala estava completamente enrolada.
– Só me diga, você é o Antonino?
– Sou – um jato de perdigotos voou no meu rosto. – Por que, seu veado? – cuspiu.
– Ótimo.
Puxei sua cabeça para trás, segurando nos cabelos ensebados. Ele se agarrou à ponte, mas de nada adiantou. Mordi seu pescoço e o sangue esguichou pela minha garganta sedenta.
Soberbo!
Quente e espesso.
O homem guinchou e pisou com força no meu pé. A dor me fez parar de sugar por um instante, o suficiente para ele encaixar uma cotovelada precisa no meu estômago.
Arfei de dor. E perdi o ar.
Ele se liberou e acertou o meu rosto com um murro bem dado. Meu nariz estalou e a visão ficou turva por um tempo.
– Seu maldito – gritou enquanto me chutava nas pernas. – Você me mordeu!
Passou a mão sobre os furos e seus olhos se inflaram quando ele viu o sangue.
Ele me atacou. Aparei um soco e enfiei as unhas no seu pulso. Antonino gemeu, mas não desistiu da batalha. Ele era forte e, mesmo embriagado, tinha um bom controle dos socos e pontapés.
Ele parecia um louco enfurecido e não caiu quando eu chutei a sua perna com força. Apenas torceu o corpo e me acertou uma cabeçada certeira no nariz já quebrado.
Tombei para trás, desabando na ponte, batendo a cabeça nas tábuas rústicas. Por pouco não escorreguei para dentro do rio. Tudo girava.
Alessio di Ettore, o imortal. Subjugado por um bêbado! Levando uma sova bem dada. Essa deveria entrar para a história. Hoje consigo rir disso, mas naquela noite, eu estava em apuros e nunca contei o ocorrido para ninguém, até agora.
Antonino se aproximou como um boi bravo. Então aproveitei e escoiceei com a sola do pé o seu joelho direito. Ouvi o som de um graveto sendo partido e ele uivou de dor.
Apoiou-se novamente no parapeito para não cair de joelhos e começou a chorar como um bebê.
– Puta que pariu – choramingou. – Por que você me mordeu? Por que você quebrou a minha perna?
Levantei-me devagar, ainda tonto.
Cuspi o sangue frio que estava na minha boca e esfreguei os olhos para recuperar o foco. Pisquei fundo e cambaleei na direção de Antonino.
– Para com isso – gritou aos prantos. – Vamos tomar uns tragos. Eu pago!
Segurei-o com força pelas orelhas e mordi a sua garganta. Ele socava as minhas costas, debatia-se, mas depois de pouco tempo os golpes foram ficando mais fracos e seu corpo perdeu o vigor.
Fartei-me e soltei a carcaça inerte sobre a ponte. Eu estava satisfeito.
Ainda não conseguia respirar direito por causa do nariz quebrado. Inspirei fundo pela boca, segurei meu nariz e com um movimento rápido, coloquei-o no lugar. Uma dor aguda percorreu todo o meu rosto, mas logo estaria completamente curado.
Olhei para o Antonino.
Uma expressão de horror estava esculpida na sua fronte.
Mereceu.
Eu odiava vagabundos que não davam valor à família.
Empurrei o seu corpo com o pé para dentro do rio e a correnteza se encarregou de limpar o meu trabalho.
Voltei assoviando para a cocheira. Alimentado e curado das feridas.
– Preciso ter mais cuidado das próximas vezes – falei afagando o cavalo magro.
Lavei o rosto no cocho dos animais e fiquei um tempo brincando com os porquinhos roliços e rosados.
Entrei no caixão e fechei a tampa.
Silêncio.
Vazio.
Escuridão.
Arrotei.
Um cheiro ferroso impregnou o ambiente.
E eu dormi satisfeito.
Os dias se arrastaram monótonos e cinzentos, assim como os espíritos dos monges depois da morte de Umberto. Eles faziam seus trabalhos e participavam das obrigações religiosas de forma metódica, sem qualquer entusiasmo.
O abade Nicola estava sisudo e ficava grande parte do tempo recluso na cripta ou nos seus aposentos, imerso em orações e leituras infindáveis. Nos corredores do mosteiro os monges comentavam que ele conversava sozinho, como se estivesse enlouquecendo. Se era verdade ou somente boatos, ninguém confirmava.
– Eu o vi falando com uma rã – disse um dos noviços.
– Outro dia ele debatia filosofia com um graveto – um irmão vesgo confirmou com a cabeça.
E novamente os boatos e as fofocas assolavam o mosteiro.
Vittore permanecia cada vez mais em sua cama, pois uma fraqueza constante dominou o seu corpo. O ar agora entrava com dificuldade nos seus pulmões e fazendo chiados estranhos a cada inspiração.
Então chegou a Semana Santa e a Páscoa. E os ânimos melhoraram um pouco.
Os monges estavam atarefados na cozinha e os noviços foram encarregados de limpar o coro, a nave e todo o entorno do mosteiro. Na verdade, mais brincavam de dar vassouradas uns nos outros do que varriam o chão.
– Parem com isso – ralhou Paulo, um irmão que antes foi soldado e perdeu um dos braços na batalha. – Senão vou pegar um pedaço de pau e vocês vão sentir de verdade o que é apanhar.
Os jovens abaixaram a cabeça e continuaram o seu trabalho, tentando segurar o riso, mas a bagunça recomeçou quando Paulo se afastou.
Os cânticos ecoavam pelas espessas paredes de pedra e os cães uivavam para acompanhar a música.
O cheiro de ervas queimando nos incensários se misturava com o das avelãs sendo torradas. Elas seriam misturadas com uvas passas e farinhas para fazer bolos deliciosos.
– Esses bolos vão ficar ótimos – disse o rapaz.
– E amanhã vários de nós teremos dor de barriga de tanto nos empanturrarmos – divertiu-se o despenseiro.
– Depois dessa semana jejuando, merecemos – emendou o rapaz.
– Merecemos – concordou.
O abade Nicola autorizou Adolfo, o despenseiro, a trazer três barris de vinho da adega e a fazer alguns confeitos de mel e avelãs para as crianças. Os pequenos sempre enchiam a boca e ficavam mastigando felizes as guloseimas.
E, como de costume, os pequenos trouxeram ovos de galinha e de pata para serem bentos. Eles virariam deliciosas omeletes, geralmente devoradas em um piscar de olhos.
As comidas seriam fartas. Abateram cordeiros, as mulheres depenavam galinhas e codornas e até mesmo um boi manco que não servia para o trabalho e estava sendo engordado para a ocasião foi morto com marteladas na cabeça. Todos participavam. Todos doavam o pouco que tinham e, assim, as festividades tomavam corpo.
Uma grande fogueira ardia do lado de fora do mosteiro e as carnes começavam a ser assadas, exalando aromas deliciosos.
– Esse boi vai ficar suculento! – disse um dos homens que cuidava do fogo.
O seu companheiro assentiu com a cabeça enquanto afiava uma faca comprida. Testou o fio nos pelos do braço e se deu por satisfeito. Pegou mais duas toras e jogou sobre as brasas, reavivando o fogo em labaredas e faíscas.
Três menininhos que brincavam por lá olharam admirados as pequenas fagulhas subindo aos céus e bateram palmas. Começaram a correr em volta da fogueira e a atirar gravetos no fogo. Desistiram assim que viram uma galinha fugitiva que corria veloz rumo ao vinhedo. Uma mulher vinha no seu encalço empunhando, esbaforida, uma faca.
– Peguem a galinha, meninos – gritou para os garotinhos. – Peguem a fujona.
E lá foram os três se embrenharem entre as parreiras, caindo, pulando e rindo enquanto a penosa lutava pela sua vida. A perseguição, entretanto, durou pouco, pois os garotos eram experientes nessa tarefa e cercaram a galinha, que foi pega pelas patas e levada para a mulher.
– A coxa é minha – disse o menino ao entregar a ave.
– A outra coxa é minha – respondeu o outro.
– Eu prefiro as asinhas – disse o menorzinho. – Bem torradinhas. Delícia! – lambeu os beiços.
A mulher sorriu e voltou para os seus afazeres. Todos estavam bem atarefados, mas felizes.
A festa para Cristo duraria enquanto fosse dia. Já de noite, era para a fertilidade e boas colheitas que as comemorações estariam voltadas. Apesar de ser um costume pagão, o abade deixava que o povo comemorasse dessa forma. Aliás, todo o clero era bem permissivo com os antigos costumes.
Era muito mais fácil conquistar as pessoas moldando suas velhas crenças em algo proveitoso. E nisso a Igreja era imbatível.
E assim os preparativos prosseguiram. Aconteceram as celebrações e as comemorações contidas junto aos monges. Mas logo veio a noite. E o cheiro das carnes assando impregnou-se no ambiente, fazendo as pessoas salivarem, apesar de terem passado boa parte do dia comendo. Sempre havia mais espaço na pança.
Mesmo já em seu aposento, o estômago do abade roncou alto por duas vezes e ele corou de vergonha. Seu espírito estava um pouco mais leve e a felicidade dos demais amainou um pouco do seu sofrimento.
Algumas crianças, espertas, encontraram o cesto de confeitos na cozinha e roubaram alguns docinhos. Mastigavam as deliciosas bolotas com discrição, olhando umas para as outras e soltando risinhos marotos de satisfação.
Como a noite estava limpa, apesar de ventar bastante, montaram mesas ao lado da fogueira e colocaram todas as comidas lá.
Uma velha fez um discurso, quase uma oração em agradecimento pela fartura e, logo após o inapropriado “Amém”, as pessoas investiram afoitas sobre as comidas. Entre monges que decidiram continuar acordados, trabalhadores, viajantes e pessoas dos vilarejos próximos devia ter mais de 200 pessoas.
Por sorte, muitos contribuíram com pães, peixes, ovos, galinhas e bolos, então, todos poderiam encher as barrigas dignamente. De novo.
As pessoas se fartavam, riam e se embebedavam. Os músicos davam o tom da farra com músicas alegres. Mesmo os monges cantarolavam e permitiam-se se esquecer um pouco do rigor da sua vida religiosa, sob o pretexto dos efeitos do álcool.
As crianças corriam em torno da fogueira. As mulheres fofocavam.
E muitos homens reforçavam as juras de amizade.
Lógico que houve algumas brigas, uns dentes perdidos e alguns olhos roxos, mas nada que não fosse perdoado imediatamente sob pena de expulsão da comilança.
A multidão bateu palmas quando um garoto começou a fazer malabarismos com quatro pedras. Ele as jogava para o alto e de uma mão para outra com muita habilidade.
Enfim, naquela noite todos se divertiam. Canecos eram cheios e esvaziados em uma velocidade surpreendente. Todos se empanturravam e vomitavam pelos cantos.
Alguns namorados aproveitaram a liberdade para se amar escondidos no meio do vinhedo. Muitas mulheres acreditavam que seriam fecundadas e gerariam filhos saudáveis com a benção da Natureza. Aprenderam isso com suas mães e avós.
E mesmo alguns noviços pouco convictos caíram na tentação das filhas dos trabalhadores. Havia muitos hábitos erguidos, muitos gemidos, nem sempre contidos, e sorrisos estampados nos rostos.
Deus os perdoaria depois. Ele era bom e misericordioso.
E a diversão continuou madrugada adentro. Do boi restava apenas uns nacos de carne ainda grudados no esqueleto sobre as brasas. Cães aguardavam tranquilos, pois sabiam que as sobras seriam bem generosas.
Várias pessoas já dormitavam encostadas nas paredes do mosteiro ou mesmo deitadas no chão úmido. Os roncos se intercalavam destoando da melodia que ainda saia desafinada das vielas e flautas.
Muitos ainda conseguiam dançar e cantar como se a comemoração tivesse acabado de começar. Umas crianças insones faziam traquinagens, colocando mato na boca daqueles com sono mais pesado e mijando nas calças dos bêbados.
Muitos adultos não seguravam o riso ao ver as estripulias dos pequenos.
Só faltava uma pessoa na festança.
Vittore.
Dois monges foram buscá-lo, mas ele declinou. Apesar dos costumes pagãos acontecerem sem quaisquer controles, ao contrário do abade, ele adorava participar dos festejos noturnos. E, mesmo depois de cego, ria e cantarolava como um menino feliz.
Mas essa noite não.
– Podem ir, meus irmãos – disse com a voz fraquinha. – Eu vou descansar um pouco. Vai ser melhor se eu ficar por aqui. Eu estou velho e a friagem da madrugada faz meus ossos doerem, então, prefiro manter-me sob as cobertas.
Eles deixaram uma caneca de vinho, um pão e um pedaço de carne de cordeiro e se retiraram.
Mas Vittore estava sem fome. Estava muito cansado, não como quando se tem sono ou quando se trabalha o dia inteiro no campo. Era uma sensação diferente. Estranha. Era muito mais profundo.
Sentiu a boca amarga. Bebeu uns goles do bom vinho, colocou um raminho de hortelã na boca e mascou devagar. Puxou a coberta de lã, pois começou a sentir mais frio. Desejava estar ao lado do fogo, mas sabia que não tinha forças para ficar de pé.
Bebeu o restante do vinho e arrumou-se na cama.
Sentiu seus pés gelados e calafrios percorrerem sua espinha. Fechou os olhos e murmurou uma oração.
“Credo in Deum Patrem omnipotentem
Creatorem caeli et terrae,
et in Iesum Christum, Filium Eius unicum,
Dominum nostrum...”
Tossiu.
E o ar demorou a voltar para os seus pulmões.
Ofegou ruidosamente. E não importava quanto ar ele puxava, seu peito parecia fechado e chiava de maneira estranha.
Suas mãos estavam dormentes e uma dor de cabeça incômoda começou.
As paredes giraram e o seu estômago revirou.
Sentou-se na cama, nauseado, e pegou uma pequena cruz de madeira sobre a mesinha.
Segurou-a entre as mãos trêmulas e continuou a oração.
“... Credo in Spiritum Sanctum,
sanctam Ecclesiam catholicam,
sanctorum communionem,
remissionem peccatorum,
carnis resurrectionem,
vitam aeternam.
Amen”
O suor frio gelou sua testa. Tossiu novamente, engasgando.
– Ó Senhor perdoe-me – disse quase sem fôlego. – Meu Deus...
Um clarão passou à frente dos seus olhos opacos e depois, apenas sombras.
Um estalo irrompeu nos seus ouvidos e depois, o silêncio.
Como se nada mais existisse no mundo.
Como se sua carcaça que definhou por tantos anos não tivesse peso algum e pairasse no ar tal qual uma libélula. Não ouvia sua respiração sôfrega, não ouvia a tosse. Não sentia mais frio.
– Então é assim? Pensou.
Seu corpo tombou para frente, quase sem vida. Vittore bateu o rosto na pedra fria.
Não havia dor.
Alguns dentes se quebraram e o sangue escorreu pela barba rala.
Quente, vagaroso. Até mesmo reconfortante.
Virou-se de lado, ainda segurando com firmeza a cruz na mão direita.
Gemeu.
Não de dor, pois nada sentia, nada via ou ouvia.
Gemeu, talvez, de satisfação.
Deitou-se de costas com os braços abertos. Os olhos leitosos vidrados.
Silêncio.
Escuridão.
Vazio.
Leveza.
Paz...
Soltou o último suspiro e sua vida se esvaiu com ele, enquanto a brisa úmida trazia o som das flautas, das violas e das risadas das crianças.
.
.
.
Encontraram o seu corpo rígido depois das matinas. Os braços abertos, a cabeça pendente e a boca cheia de vômito seco. Mas, apesar de tudo, seu rosto sulcado pelos anos tinha um semblante de tranquilidade e paz.
– Ele sabia... – disse o abade exausto assim que lhe contaram o ocorrido. – Ele sabia...
Nicola falou coisas sem sentido por um tempo, andando de um lado para outro, alheio a tudo. Dava socos com os nós dos dedos ao lado da cabeça e esfregava as mãos trêmulas enquanto olhava para o teto. Balançou a cabeça em negação e, mesmo sem se recompor totalmente, foi cuidar do sepultamento do seu grande amigo.
Os monges limparam o cadáver de Vittore. E vestiram o seu corpo em um hábito novo, pois o seu estava todo remendado e sujo.
Uma missa foi rezada e, novamente, um ser querido estava sendo enterrado.
Sucessivas pás de terra cobrindo cada lembrança do seu velho amigo. Terra que engolira muitos entes queridos. A terra era insaciável.
Nicola não conseguia mais ver o rosto de Vittore na sua mente, nublada. Não se lembrava da face nem da voz do monge morto.
Abaixou a cabeça e cruzou os dedos. Porém não fez nenhuma oração.
As nuvens se dissiparam no céu azul e os tímidos raios de Sol apareceram e os pássaros cantaram alheios ao sofrimento.
Mas, para o abade, o mundo estava cada vez mais sem cor.
E agora, sua solidão pesava. Irritava.
Começaram os ritos.
Sua boca acompanhava as orações e ladainhas, pois sua mente estava dispersa.
Tudo acabou muito rápido, ou pelo menos pareceu acabar.
Um a um os monges se afastaram em uma fila silenciosa, tal como já fizeram antes.
A mesma longa serpente marrom. A besta silenciosa que aparecia nos piores momentos.
E, de novo, o abade ficou prostrado diante da sepultura.
Permaneceu pouco desta vez.
Afastou-se do monte de terra e caminhou curvado até o mosteiro.
E no corredor de pedra viu a grande cruz de madeira. Fitou-a por uns instantes.
Era imponente. Magnífica.
Entretanto, pela primeira vez desde que a viu, não pôde mais sentir Deus nela.
Deu as costas, com profunda tristeza no coração.
Mas não tinha mais lágrimas para chorar.
Capítulo XII – Só Deus pode nos julgar
Vai lá Arroto – disse Mario empurrando o garotinho. – E vê se faz uma bela cara de choro.
Tullio correu para o meio da estrada e sentou-se no chão, com as mãozinhas sobre o rosto sujo. Lá adiante vinha uma carroça escoltada por dois cavaleiros vestidos com gibões de couro e espadas nas bainhas.
– Será que vai dar certo? – perguntou Tonina.
– O máximo que pode acontecer é ele tomar um tabefe na orelha – falou Pança observando por detrás de uma árvore.
– O que ele vai fazer mesmo? – perguntou Lino, curioso.
– Ele vai tentar arranjar alguma coisa para nós comermos – respondeu Mario.
– Mas vão machucar ele?
– Não se preocupe Lino – Chulé falou batendo nas costas do novo amigo. – Aquele moleque é esperto demais.
A carroça puxada por jumentos vinha devagar. Mas ao ver o garotinho sentado no meio da estrada, os cavaleiros que a escoltavam galoparam na sua direção.
– Ei moleque – gritou um dos homens. – Saia do caminho!
Tullio permaneceu imóvel, com a cabeça abaixada e o rosto entre as mãozinhas.
– Você é surdo? – gritou o outro. – Levanta e some daqui.
Arroto levantou o rosto, os olhos vermelhos, provavelmente por causa das mãos sujas de terra.
– Pelo amor de Deus, senhor – falou alto. – Eu me perdi dos meus pais e não como há dias. Estou faminto e com medo!
– Isso não é problema nosso – ralhou o mais novo. – Agora levanta, senão passaremos com a carroça por cima de você.
Tullio começou a chorar, ajoelhando-se com as mãozinhas em prece.
–
– Que moleque safado – falou Chulé com um sorriso no rosto.
– Por favor, me dê um pão velho. Pode até estar carunchento – Arroto disse com a vozinha aguda. – Eu estou morrendo de fome!
Fungou e assoou o nariz com a mão.
O cavaleiro mais novo ameaçou investir com o cavalo contra ele, mas o mais velho o conteve.
– Não é preciso tanto – falou cofiando a barba grisalha. – O menino só quer comida.
Ele abriu uma bolsa de couro presa no cinto e tirou um pedaço de carne defumada.
– Eu não acredito que você vai desperdiçar sua carne com esse vadio – falou o outro.
– É que você não tem filhos e nunca passou fome – irritou-se. – Agora pegue esse pedaço de carne e saia da estrada, menino. E que Deus lhe abençoe e o ajude a encontrar os seus pais.
Tullio pegou a carne e saiu do caminho. A carroça passou vagarosa por ele. O mercador rechonchudo continuou seu cochilo, alheio a tudo, com as rédeas nas mãos.
O cavaleiro mais velho acenou e foi retribuído. E eles continuaram seu caminho pela estrada poeirenta.
Tullio voltou para junto dos amigos com um sorriso no rosto.
– E aí, Arroto, o que você conseguiu? – Pança perguntou lambendo os beiços.
O menininho mostrou o naco de carne defumada um pouco maior que as suas duas mãos.
– Puta merda – disse o gordinho socando o ar. – Isso não dá pra nada!
– Isso é melhor que nada, seu guloso – disse Tonina.
– E quem disse que não temos nada? – falou Ruggero aparecendo com um saco grande nas costas e uma haste de capim no canto da boca. Seu rosto estava vermelho por causa do esforço.
Ele colocou a trouxa no chão e abriu-a com um sorriso.
De lá tirou mel, três queijos grandes, dois salames grossos e muitas ameixas roxinhas. Ainda mostrou uma bolsinha de couro com umas moedas de prata e um anel de ouro.
Os garotos riram, festejaram e levaram as comidas para o seu acampamento.
– Ei Arroto – falou Pança ao se aproximar do menininho. – Você vai me dar um pedaço da sua carne não é?
– Ela é minha – disse mordendo a iguaria. – Fui eu que podia ter o rabo chutado pelos cavaleiros.
– Eu não ia deixar isso acontecer – respondeu Pança, salivando. – Eu estava com um pedaço de pau na mão, pronto para atacar se você corresse perigo.
– Você não ataca nem uma mosca, Pança – divertiu-se o garotinho. – Você é cagão demais.
Apesar de tudo, Tullio dividiu a carne ao meio e deu um teco para o amigo.
– Obrigado – falou o gordinho colocando quase tudo na boca. – E cagão é a puta que o pariu.
Os dois riram e continuaram pela trilha estreita.
Lino ainda conseguiu pegar quatro rãs em um charco no caminho com uma fisga improvisada com um galho fino.
– Hoje o almoço vai ser bom – falou Mario.
– Você ainda não perguntou para os seus amigos se eles viram o maldito monge – disse mudando totalmente de assunto e fechando o semblante.
– Calma, Lino – disse Chulé ao chegarem ao acampamento. – Ele não vai fugir. Prometo que depois do almoço conversaremos, certo? Agora vamos encontrar umas ervas para fazermos um ensopado com essas rãs.
– Ei Tonina – chamou Mario. – Você pode limpar as rãs enquanto Lino e eu buscamos umas ervas?
Ela assentiu com a cabeça.
Enquanto isso, o Tripa já acendia o fogo.
Apesar de serem apenas crianças, eles sabiam se virar muito bem.
– Eu me lembro de ter visto um arbusto de tomilho perto da estrada – Lino disse. – E também umas favas. Minha mãe gostava de usar tomilho e alho nas rãs que eu capturava.
– Então vamos lá – falou Chulé. – E quem chegar por último é a mulher do padre!
Mario saiu correndo e Lino foi no seu encalço.
E a turma continuou com os seus afazeres, todos felizes pelo butim farto.
.
.
.
– Uma vez eu até tentei matar um ganso com uma pedrada – disse Mario enquanto colhia as favas –, até acertei o bicho, mas ele ficou irritado e correu na minha direção para me bicar. Tive que subir ligeiro em uma árvore e fiquei um bom tempo trepado antes do ganso desistir e voltar ao lago. Depois disso, só caço aves menores como patos e marrecos.
– Eu tenho uma funda na minha casa – falou Lino arrancando uns ramos de tomilho –, então sempre que vejo uns marrequinhos dando mole eu garanto o jantar lá em casa – Lino ficou cabisbaixo. – Mas isso tudo é passado. Minha mãezinha está morta.
– É foda não ter mais família – Mario espremeu os lábios. – Ainda bem que nós temos a turma, não é?
– Verdade...
Eles continuaram a colheita, agora em silêncio.
Que foi interrompido pelo som de cascos. Não o som de qualquer pangaré ou jumento, mas sim a marcha imponente de um cavalo de algum nobre ou mesmo militar bem-sucedido.
Eles olharam para a estrada e antes que Mario entendesse a situação, Lino saiu correndo e gritando morro abaixo.
– Volte aqui seu filho da puta – sacou a faca e correu na direção do cavalo.
Chulé foi no seu encalço e viu montado no belo cavalo um homem magro e de cabelos pretos como carvões.
– Agora fodeu – falou ao tentar puxar o amigo, que o empurrou com força.
O cavalo estancou e o homem se virou. A princípio não reconheceu Lino, mas ao se aproximar, abriu um sorriso.
– Jovem Lino – disse com a voz sem emoção. – O que faz tão longe de casa?
– Eu estava a sua procura – respondeu com ódio.
– E agora que me encontrou, o que deseja de mim? – empertigou-se.
– Eu vou te matar.
O garoto saiu correndo com a faca em punho, mas antes de chegar perto, o cavalo empinou, fazendo-o cair para trás, assustado.
Ugo desmontou e se aproximou sem demonstrar medo, ou raiva, ou qualquer outro sentimento. Seu rosto era rígido e impassível.
– Não me lembro de você ter tanta coragem – disse se curvando. – Você chorou igual a um bebê enquanto sua mãe tinha os pecados expiados.
Lino estava assustado, mas a lembrança da sua mãezinha morta lhe fez ferver o sangue. Então ele se levantou e com agilidade cortou a perna do monge com a faca.
Ugo se dobrou de dor, mas o corte foi superficial e logo ele retomou sua postura ereta e altiva.
– Acho que tem mais alguém que precisa se redimir dos seus pecados – sua voz estava mais aguda do que o normal.
Lino investiu com os dentes cerrados, mas dessa vez o monge desviou e lhe deu um forte tapa na nuca. O garoto se desequilibrou caindo de cara no chão.
Ugo se aproximava sem qualquer pressa, estalando os dedos e balançando a cabeça em negação.
– Parece-me que você tem muitos pecados para confessar, meu jovem – disse ao se agachar e segurar o menino pelos cabelos. – E chegou a hora do seu julgamento. Você se arrepende?
Lino gritava de dor e as lágrimas se misturaram ao pó avermelhado no seu rosto.
Ugo já segurava o cabo da sua adaga quando veio a pedrada.
Mario acertou-o em cheio na têmpora. Ele caiu sentado, tonto. Então desabou de costas no chão.
– Só Deus pode nos julgar! – gritou Mario com raiva. – Você não passa de um merda.
Lino se levantou, com sua faca em punho, mas ao invés de fugir, parou ao lado do monge que estava com os olhos fechados e a mão sobre o ferimento que sangrava profusamente.
Então ele apontou sua faca em direção ao pescoço de Ugo, o Carnefice.
– Foge seu idiota – Mario gritou já subindo o barranco.
– Vou terminar com isso agora – respondeu Lino ao olhar para o amigo.
Então frei Ugo segurou sua perna. Abriu os olhos com uma expressão abobalhada, o semblante perdido.
Lino gritou e por reflexo cortou a bochecha esquerda do homem com a ponta da faca.
Ugo soltou a perna e gemeu, tentando se levantar.
– Corre – gritou Mario.
E Lino correu em direção ao amigo.
Ugo se levantou e cambaleou na direção deles.
Os dois garotos correram bosque adentro apavorados.
– Vocês podem fugir... – disse ofegante – Mas não vão escapar do seu julgamento. Vão pagar pela covardia que fizeram.
Os meninos avançaram até os pulmões queimarem.
Chegaram ao seu refúgio secreto suados e sem fôlego. Os outros meninos se assustaram, mas nenhum dos dois conseguia falar.
Apenas beberam um pouco de água e sentaram-se para recuperar o ar.
Enquanto isso, Ugo, o Carnefice, tombara zonzo e engatinhava para fora da estrada. Parou ao lado de uma rocha redonda onde se apoiou para se levantar, muito tonto e nauseado.
– Que traição... – murmurou.
Vomitou.
E de repente, tudo ficou escuro.
– A minha alma está negra – disse o abade para o seu amigo Francesco, prior da Abadia de Sant’Angelo em Formis. – Eu perdi a minha fé.
– Meu irmão, reverendo Nicola... – falou o velho senhor segurando-lhe as mãos – Você está passando por um momento terrível. Umberto e Vittore também me eram muito caros. Conheci-os há uns 20 anos, eu acho. Chorei bastante pelas perdas. Tenho certeza que os santos e os anjos irão lhes acolher bem, eram homens bons e merecedores. Em momentos de desilusão e dor, acreditamos que perdemos as nossas convicções e a nossa fé, mas o Pai sempre está ao nosso lado. E quando menos esperamos, Ele, em sua infinita sabedoria e bondade, manda-nos um sinal e, então, a nossa fé retorna ainda mais forte e pura, como se nunca tivéssemos tido quaisquer incertezas.
– Assim espero...
Os dois velhos amigos conversaram por um bom tempo, mas Francesco precisava prosseguir a sua viagem para Lecce, então, retirou-se para rezar um pouco antes de descansar.
Nicola foi para a igreja e conduziu as orações sem qualquer vontade, sem qualquer crença nas palavras que proferia. E, tão logo as obrigações acabaram, retornou aos seus aposentos. Precisava de solidão, queria afogar-se no silêncio e no vinho, mas não pôde satisfazer seus anseios.
Sentada em sua cama, uma garota de pele branca como o leite fresco, salpicada de sardas acobreadas o observava com um quase sorriso no rosto.
– Quem é você? – indagou o abade com as sobrancelhas brancas franzidas.
– Amiga de alguém que era o seu amigo – respondeu a garota. – E o meu nome é Tita, ou Raposa se preferir.
– Bem, Tita... – respirou fundo. – Você sempre será bem-vinda à igreja, à casa de Deus, mas não é de bom tom entrar em aposentos particulares sem ser convidada.
– Oh, desculpe-me a rudeza! – disse ao se levantar e sair num piscar-d’olhos.
O abade ficou confuso. Entretanto, antes de chegar a qualquer conclusão, a garota bateu na porta.
– Oi? – falou com um sorriso no rosto. – Por gentileza, senhor abade, poderíamos conversar um pouquinho?
– Entre... – Nicola, apesar de tudo, do inesperado, achou a situação cômica, mas conteve o riso. – Sente-se, por favor – falou ao apontar a cadeira.
Raposa adentrou o aposento e sentou-se na cadeira, fazendo antes uma mesura exagerada.
Era estranho, pois a menina tinha movimentos tão sutis que parecia pairar no ar como se o seu corpo esguio não tivesse peso algum.
– Agora sim, jovem Tita, a que devo a sua visita?
– Na verdade, eu estava de passagem, mas assim que vi o seu belo mosteiro, lembrei-me de um amigo – coçou a ponta do nariz –, bom, conheci o Alessio há pouco tempo, mas já o considero meu amigo.
O abade ficou boquiaberto com a menção do nome e desabou sobre a sua cama. Sua expressão era uma mistura entre espanto e admiração.
– Você conhece o Alessio? – perguntou afoito. – Alessio di Ettore, que trabalhava aqui no vinhedo? Cabelo cor de palha, olhos grandões e verdes?
– Sim, esse mesmo.
– E quando você o viu pela última vez?
– Há uns dias – pegou uma jarra de vinho que estava sobre a mesinha. – O seu vinho é famoso em toda a Itália – colocou-a à frente do nariz pequeno e inspirou o aroma adocicado.
– Por favor, sirva-se, se quiser – falou o abade.
– Obrigado, mas eu prefiro beber algo um pouco mais quente – Raposa colocou a jarra novamente sobre a mesa.
– Eu posso pedir para alguém lhe trazer um leite morno ou mesmo um pouco de sopa, se ainda tiver.
– Não se preocupe. Eu estou bem. E logo mais... – interrompeu a frase – Bom, deixa para lá!
O abade verteu o vinho em uma caneca de barro e bebeu. Encheu-a novamente e bebeu tão rápido quanto a primeira dose, fazendo o preciso líquido escorrer pelos cantos da sua boca enrugada.
– Mas, então, como conheceu o Alessio? – o abade balançava as pernas impaciente.
– Um dia desses, na verdade, numa noite dessas, ele apareceu lá em casa. Conversamos um pouco e jantamos juntos – limpou a garganta. – Porém, ele estava com pressa e prosseguiu a sua viagem.
– E como ele estava? – perguntou inclinando-se na direção de Raposa. – Você não notou algo... estranho nele?
– Para mim ele parecia ótimo – estalou os dedos. – Forte como um touro.
– Sim, sim... – impacientou-se – Você não percebeu nada diferente na sua aparência? Ele não tentou...
Tita encarou o abade fixamente e seus olhos pareciam muito mais velhos do que a sua idade física. Nicola se encolheu. Nunca se sentira intimidado antes, ainda mais por uma jovem, mas havia algo estranho nessa garota, algo que fazia a cabeça do abade ficar ainda mais confusa.
– Na verdade, ele era um pouco diferente da maioria das pessoas. Ele tinha dentes como o dos gatos, assim como os meus – apontou para os seus caninos proeminentes.
Nicola se assustou e, instintivamente, acuou-se na sua cama como um rato que foge de uma vassourada.
– Meu Deus! – Levou a mão sobre a boca. – Meu Deus!
– Deus! Deus! Deus! – disse Raposa ao se levantar. – Vocês são chatos demais. Mesmo Alessio, depois de tudo o que passou, ainda acredita no homem crucificado. O pior idiota é aquele que conhece a verdade e prefere insistir nas baboseiras.
O abade balbuciou algo incompreensível e segurou a cruz que pendia no seu peito.
– O que você quer de mim? – sua voz rouca quase falhou.
– Boa pergunta – disse Tita segurando o queixo delicado com a mão. – Você sabe que eu não sei. Nem sei direito porque estou aqui. Acho que o peso da idade está chegando para mim.
Gargalhou.
Riu até quase perder o fôlego.
– Desculpe a minha falta de modos – disse tentando se recompor. – Sei que em um mosteiro quase tudo é proibido e pecado. Aliás, rir é pecado?
– Na-ão – respondeu. – Não se for moderado.
– Então por que vocês são tão sisudos? – fez uma careta. – Parecem que vivem com um cordão amarrado no saco.
– Porque a parcimônia é necessária ao nosso ofício – Nicola respondeu corado e tentando recuperar a calma.
– Que porre! – zombou Raposa. – Vocês homens de deus transformaram o mundo em algo chato demais. Não sei como vocês se aguentam. Tudo é culpa, medo e punição. Tudo faz ir para o inferno. Ave-Maria! – Foi mal, não resisti.
Riu novamente.
– E o que você é? Um demônio? Uma enviada de Satanás?
– Não sei nada sobre anjos ou demônios. Também nunca cruzei com esse tal de Satanás – a garota sentou-se com delicadeza. – Sei que eu sou eu. Simples assim.
– Você não pode ser uma criação do nosso Senhor – disse o abade resoluto.
Apesar de eu não conseguir ver maldade nela. Pensou.
– Ainda bem – falou com um ar maroto. – Senão eu estaria enfiada nesses hábitos fedorentos, gastando a minha eternidade com rezas e mais rezas inúteis – piscou. – Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis e mais um monte de baboseiras, Amém! – imitou o cântico dos monges. – Como uma religião assim foi dar certo?
– Eternidade? Você disse eternidade? – falou o abade absorto.
– Para quem nasceu antes do tal Jesus eu estou bem conservada. Até mesmo bonita, não é? – riu – Oh, desculpe! Não fica bem para um abade dizer que a mulher é bonita, certo? O seu pequeno cajado agora é santo!
Gargalhou novamente.
– Hoje eu estou impossível – Raposa deu tapinhas nas bochechas brancas.
O abade ficou em silêncio por um tempo e não foi interrompido pela garota. Colocou mais vinho em sua caneca e bebeu tudo em um só gole.
– E o Alessio também vai viver tanto? – perguntou ignorando os devaneios da moça.
– Provavelmente – respondeu Raposa. – Isso é se não o matarem ou se ele não fizer nenhuma estupidez. Ele é bem desleixado, como o senhor mesmo sabe.
– Então... – esfregou os olhos com as mãos trêmulas. – Vocês são como os deuses pagãos?
– Os deuses esquecidos? Aqueles que a sua igreja fez questão de enterrar?
– Sim.
– Também não sei nada sobre eles além de histórias e mitos contados pelos mais velhos – franziu o cenho. – Que ironia, eu poderia ser considerada um mito. Uma deusa! Mas deixa para lá. Eu nunca vi um deus. E olha que já andei por toda a Itália e até mesmo fiz um pequeno passeio à Grécia. Só conheço os deuses por estátuas quebradas e relatos contados nas noites embriagadas das tavernas. E isso mesmo antes do tal Jesus ser adorado.
– Então, tudo não passa de histórias?
– Até onde eu sei sim – respondeu enfática. – Jeová, Apolo, Saturno, Zeus, Diana... Acho que foram invenções de bardos muito criativos. Ou de homens inspirados pelo vinho e melikraton. E que agora, com o deus único, tornou-se um negócio muito lucrativo, não é? – deu uma piscadela.
– Não existe nada... – falou o abade para si mesmo. Seu olhar estava perdido e ele fitava os joelhos sem piscar.
– Bom, a conversa está ótima, mas eu preciso ir – disse Raposa ao se levantar, beijar os lábios rachados do velho abade e sair do pequeno aposento. – E cuidado para não se queimar... Vai por mim, as coisas vão esquentar bastante por aqui! – deu outra piscadela.
O abade sentiu como se algo comprimisse o seu peito e por um bom tempo, fitou a porta, com o semblante abobalhado.
Ela me beijou. Pensou. As coisas vão esquentar por aqui...
Tita andou pelos corredores de pedra, assoviando e os monges que cruzavam por ela ficavam surpresos, mas nada diziam, como se estivessem hipnotizados pela melodia. E a garota ainda os instigava mais, mandado beijos e acariciando bochechas com sua mão delicada e fria.
.
.
.
– Não existe nada... – repetiu o abade. – Não existe nada... Deus, deuses, não importa... Não há nada. Tudo é mentira. Toda a merda que aprendi na minha vida é mentira!
Ele pegou a jarra de vinho e bebeu tudo com longos goles.
... as coisas vão esquentar bastante por aqui. A voz de Tita estava nítida na sua cabeça, como se ela ainda estivesse em seu aposento. O beijo ainda umedecia os seus lábios.
... esquentar bastante... A garota parecia dominar seus pensamentos e a sua vontade.
... esquentar... O abade levantou-se e seguiu rumo à cozinha. Pegou um balde de óleo e caminhou lentamente até a cripta. Trombou com monges, mas sequer os viu. Sua cabeça havia perdido o rumo de vez. E eles também que acreditavam que o seu mentor estava cada vez mais abobalhado.
– É a idade – um dos noviços disse e foi prontamente repreendido por um irmão que andava ao seu lado.
– Não existe nada... Não existe nada... – o abade batia na testa com a palma da mão.
Desceu as escadas lentamente, sem precisar olhar para os degraus gastos.
Jogou o óleo sobre os bancos de madeira. E derrubou sobre ele as velas acessas.
– Não existe nada... Não existe nada...
... as coisas vão esquentar bastante por aqui. Viu o rosto jovial de Tita e não se conteve, desejou-a.
– Sim, as coisas vão esquentar! – falou deixando um fio de baba escorrer pelo canto da boca.
As labaredas começaram tímidas, mas logo tomaram corpo e arderam altas. A madeira estalou.
O abade saiu da cripta e atrás dele as chamas lambiam tudo o que encontravam. Queimavam a velha escada de madeira chegando à nave.
– Não existe nada... Não existe nada... – gritou. – Somente fogo e sangue...
Tudo o que estava no caminho das chamas era consumido com ferocidade. E logo o vigamento do teto se incendiava.
Dois noviços deram o alarme e muitos vieram correndo com baldes de água, mas o fogo já estava forte demais. Não poderia ser apagado.
O abade continuou caminhando lentamente, curvado, para fora do mosteiro.
– Não existe nada... Não existe nada... – falou. – Raposa é deusa. Cristo está morto. E Deus?
O ar fresco da noite lhe agradou.
Virou-se e viu a grande pira que se tornara a imponente construção.
– Não existe nada... Não existe nada... Fogo... Sacrifício. Beleza rubra!
Sentou-se no chão, que tremeu quando o teto e a parede oeste desabaram. Ouviu gritos de desespero e dor. Sabia que muitos homens morreriam esmagados ou carbonizados.
Sabia que lá dentro, no corredor de pedra o grande crucifixo queimava. E aquilo lhe fez sorrir. Deu-lhe um prazer inexplicável. Uma ereção aconteceu depois de muitos anos.
Tinha perdido a sua fé, tinha perdido a convicção de uma vida inteira.
– Eu me arrependo de todos esses anos desperdiçados como um escravo de um deus de faz de conta! – gritou.
A parede sul ruiu fazendo um grande estrondo. Monges ensanguentados caminhavam desnorteados. Muitos tombavam e não mais se levantavam. O abade aplaudia.
As labaredas iluminavam a noite e subiam altas, agitadas pelo vento em um turbilhão infernal de calor e fuligem. O abade dançava.
– Onde você está agora, seu merda? – Nicola berrou olhando para o céu. – Eu destruí a sua casa, eu matei seus filhos e você não vai fazer nada? Seu covarde!
– Covarde!
– Covarde!
Arrancou um tufo de terra e grama e atirou na direção do mosteiro.
Arrancou seu pequeno crucifixo do peito com raiva, jogou o cordão fora e engoliu a cruz.
Quase se engasgou. Por pouco não vomitou. Riu.
Seus olhos estavam vermelhos. Rasgou suas vestes e ficou nu. Pau ereto e rijo como nos seus tempos de moço.
Deitou-se no chão.
Rindo e chorando.
Segurou seu membro e o chacoalhou com vigor. A garganta ardendo por causa do crucifixo que desceu goela abaixo.
Olhou novamente para o céu negro, sem lua e sem estrelas, tomado pela fumaça. Viu Tita nua, esguia, com todas as carnes no lugar e peitos pequenos e atrevidos.
Chacoalhou o pinto mais rápido e gozou, lambuzando a mão e a barriga enrugada. Estava ofegante e feliz. Feliz como nunca estivera antes.
Observou a imensidão do céu e sabia que Deus não estava lá.
– Não existe nada... Não existe nada...
Fechou os olhos.
– Não existe nada... Não existe nada... Somente a deusa antiga – soltou o pinto e virou-se de lado em uma posição fetal.
Sentiu o crucifixo machucar o seu estômago.
– Eu cagarei deus! – sussurrou e riu pela última vez.
Perdeu-se em sua loucura.
– Ei, Alessio – Lucio deu umas batidas no caixão. – Acorda Alessio. Vamos!
– Puta merda, Lucio – abri o caixão com um solavanco, fazendo o gorducho cair para trás, em cima de uns melões amontoados. – Parece que a merda do mundo está acabando.
– Em primeiro lugar, bom-dia, boa-noite, sei lá – falou se levantando com muito esforço.
– Por que tanto desespero, homem? – falei irritado. – Acabou a comida? Já esvaziou todos os odres de vinho?
– Deus me perdoe pelo que vou dizer... – inspirou fundo. – Vá se foder!
Diverti-me e ele suavizou sua expressão antes de continuar.
– Acho que eu vi o seu filho. Ele está lá dentro comendo com outras crianças – esfregou as mãos.
– Meu filho, está aqui? – saltei de dentro do caixão como um gato. – Lino está aqui?
– Bom, eu o vi várias vezes no mosteiro e no vinhedo e tenho quase certeza que é ele – falou o gorducho. – Pelo menos se parece com ele.
Corri para o salão onde muitas pessoas comiam, bebiam e cantavam. Duas prostitutas se insinuaram próximas à entrada, mas xingaram baixinho quando eu sequer as olhei.
Parei na porta e viu meu filho e mais cinco crianças comendo com gosto em uma mesa embaixo da escada. Sorri.
Quis entrar correndo e abraçá-lo, mas tive de me conter.
Lucio veio esbaforido e esbarrou em mim, quase me derrubando.
– Por que não vai lá falar com o seu filho?
– Não sei...
– É o seu filho.
– O problema é que eu não tenho mais certeza se ainda sou o seu pai – abaixei a cabeça –, depois que virei essa coisa.
– Não importa o que você é – falou segurando no meu ombro. – Lino é, sim, o seu filho. Sempre será. E o amor que tem por ele nunca vai mudar.
– Verdade – concordei. – Você me faria um favor?
– Mas é claro!
– Diga ao meu filho que o espero lá na carroça – olhei-o profundamente – Acho melhor conversar com ele sem a presença dos amigos.
– Pode deixar. Irei ter com ele.
Segurei a sua mão quente e fui até a carroça. Enquanto isso, Lucio se dirigiu até a mesa dos garotos.
– Ei, menino! – falou ao se aproximar. – Por acaso você é o Lino?
Lino soergueu os olhos e se assustou com Lucio.
– E se for, o que você quer com ele? – levantou-se Mario e encarou Lucio com os punhos cerrados.
– Calma, meu jovem – mostrou as palmas das mãos. – Vim em paz. Sou amigo do pai do Lino, Alessio.
Ao ouvir o nome do pai, Lino arregalou os olhos.
– Eu sou Lino – disse ao se levantar. – E você quem é?
– Irmão Lucio, ao seu dispor – curvou-se. – Por diversas vezes vi você trabalhando no vinhedo, mas acho que não se lembra de mim.
– Não me lembro – respondeu secamente.
– Isso não importa agora.
– E o que você quer comigo?
– Trago notícias do seu pai...
– E onde ele está? – perguntou o garoto ansioso.
– Lá fora... – falou. – Se quiser ir vê-lo...
O garoto nem esperou e saiu correndo.
Chulé tentou ir atrás do amigo, mas Lucio o segurou.
– Deixe-o, meu jovem – falou com a voz terna. – Ele precisa conversar com o pai.
– Como vamos saber que não é uma armadilha? – inquiriu Ruggero.
– Eu sou um homem de Deus – disse convicto. – Tenho obrigações com a verdade.
– Ultimamente estamos fartos de homens de Deus. – disse Tonina resoluta. – E a última coisa que eles dizem é a verdade.
Lucio olhou para a garota, que continuou comendo a sua sopa, sem tirar os olhos dele. Sentou-se na cadeira em que Lino estava sentado, puxou a tigela de sopa comida apenas pela metade e colocou uma colherada na boca.
– Ei, seu guloso! – protestou Arroto. – Essa sopa é do Lino.
– Ora, depois ele pode pedir outra – falou lambendo os beiços. – E essa iria esfriar, pois a conversa com o pai vai ser longa. Agora me dá um pedaço de pão para ajudar com esse caldo ralo.
Os garotos se entreolharam e acharam aquilo divertido. Continuaram comendo e conversando e logo Lucio já estava enturmado.
– Ei garoto! – falou para o Pança. – Veja se come com parcimônia, senão logo mais não vai conseguir ficar em pé.
– Olha quem fala – respondeu. – Você já viu o tamanho da sua barriga?
– Ela é grande, mas é abençoada por Deus.
Eles ficaram em silêncio por uns instantes, mas logo caíram na gargalhada.
E do outro lado do salão um bardo começou uma cantoria que foi acompanhada por todos que conheciam a música, completando a algazarra.
“Mulheres com belas tetas ganham a vida
Com seus vestidos apertados e saias franzidas
Peitos fartos, redondos, poderosos
Deixam os sovinas bem generosos
Quero me perder entre as macias tetas
Nem que para isso eu gaste toda a grana com a gorjeta!”
Arroto subiu em cima da mesa e começou a dançar. Chulé e Tripa batiam palmas. Pança estava mais interessado em comer e apenas Tonina e Lucio estavam envergonhados por causa da música.
Mas do lado de fora do salão as emoções eram outras.
.
.
.
– Pai? Você está aí? Pai?
– Sim, estou meu filho – respondi das sombras depois de um tempo observando o menino.
O garoto correu na minha direção e abraçou-me com força.
– Como é bom te ver, meu garoto – tentei, em vão, conter as lágrimas. Virei o rosto rapidamente e me limpei com a manga da camisa. Não queria meu filho me vendo com o rosto manchado de sangue.
– Você está frio, meu pai – falou ao tocar o meu rosto com a mãozinha calejada. – Vamos entrar e comer uma sopa quente.
– Não se preocupe, Lino. Eu estou bem.
Eles se abraçaram e trocaram sorrisos silenciosos. O reencontro, para Alessio, era ao mesmo tempo feliz e triste, pois sabia que não poderia ficar muito tempo com Lino.
– Agora me diga o que faz tão longe de casa? E a sua mãe?
De repente os olhos do garoto ficaram vermelhos e uma lágrima escorreu pela bochecha suja. Respirou fundo e as palavras teimavam em não sair.
– Fale meu filho– insisti.
– Ela está morta! – engoliu em seco.
– Morta? – segurei o meu filho pelos ombros.
– Sim – Lino falou enxugando os olhos. – Um monge veio e deixou-a nervosa demais. E o coração não guentou o tranco. E ele procurava por você.
– Conte-me tudo, meu filho.
Lino caiu em prantos. Tentei consolá-lo apesar de também não ter mais chão.
E o garoto reproduziu a história, assim que parou de chorar. As imagens vinham nítidas à sua mente. Falou sobre a morte, sobre o terror que viveu, falou da sua jornada e contou sobre o seu encontro com o monge mau na estrada.
Não deixou escapar nenhum detalhe, por mais dolorosas que fossem as lembranças. Parava de tempos em tempos e olhava para o vazio.
Ao final da história, abracei-o com força e ambos ficamos em um silêncio azedo.
– E esses garotos? – disse retomando a conversa.
– Eles são bons comigo – Lino respondeu fungando. – Eles são órfãos e vivem na floresta.
– E você gosta deles?
– Sim.
– Então você vai me jurar algo – ajoelhei-me na frente do meu filho. – Jure que vai deixar de perseguir esse animal. Jure que vai ficar com eles e em segurança.
– Pai! – protestou. – Ele fez a mamãe morrer.
– Eu sei, meu filho, mas eu cuidarei disso agora.
– Mas...
– Nada de mas! – fui incisivo. – Jure!
– Eu juro.
– Você jura pela sua mãe que está no céu? – apertei seus ombros.
– Sim, pai. Eu juro.
– Ótimo! – abracei-o novamente. – Agora vá lá e continue a sua refeição.
– E você? – perguntou Lino. – Você está tão branco e parece adoentado.
– Eu estou bem, filho. Agora vá!
– Podemos ficar juntos – suplicou Lino. – Eu não vou lhe atrapalhar.
– Ainda não filho, ainda não – respondi. – Agora vá e fique bem.
– A sua benção pai – pediu segurando as minhas mãos.
– Deus lhe abençoe, meu menino – disse ao lhe dar um beijo na testa.
– Eu o verei novamente? – perguntou Lino.
– Sim, meu filho, nós nos veremos.
Então Lino sorriu, afastou-se vagarosamente e entrou no salão. Eu não tinha certeza se veria meu filho outra vez, mas achei que isso era a melhor coisa a ser dita. Não queria estraçalhar as esperanças do menino. Ele já sofrera demais
Ajoelhei-me na lama e pedi a Deus e aos santos para protegerem o meu pequeno. Rezei com muito fervor. Rezei com toda a humanidade que restava em mim.
Levantei-me e fiz o sinal da cruz. E, sem hesitar, fui ao encalço do assassino.
– Agora ele vai ter comigo. Não com uma mulher indefesa e um menino.
E a raiva me fez correr como o vento.
Estava com sede.
Esvaziaria o maldito até a última gota.
Mas, antes, fá-lo-ia sofrer e implorar pela sua miserável vida.
Sabia que a vingança era algo pouco nobre, todavia não me importava. Eu teria a minha.
Mesmo que a minha alma estivesse cada vez mais condenada aos sofrimentos do inferno.
– Pai – o garoto cutucou o homem que andava distraído. – Tem alguém caído na beira da estrada.
O pai apertou os olhos, mas a sua vista não era mais a mesma de antes, principalmente quando o Sol já começava a baixar no céu.
– Deve ser um vagabundo – respondeu. – Ou um bêbado.
– Ou alguém que não aguentou a dureza da viagem – falou a mãe.
– Acho que é um frade – falou o garoto. – Parece que ele está vestindo uma roupa de frade.
– Então ele exagerou no vinho depois da missa.
Os dois riram e continuaram se aproximando a passos lentos. Sua mulher vinha mais atrás trazendo um menininho ranhento pela mão e um bebê no colo.
– Paolo, pare de zombar – ralhou com o marido. – Ainda mais se for um frade. Vá lá ajudá-lo!
O marido resmungou, mas acatou a ordem e, junto com o seu filho, apertou o passo até o homem caído.
– Olha, ele está com um machucado muito feio na moringa – falou o menino. – Deve ter tomado uma paulada na cabeça.
– Provavelmente foram ladrões – respondeu o pai. – Veja o corte na bochecha.
– Ele está morto? – perguntou o filho agachando ao lado do frade.
– Acho que não...
O menino cutucou o ombro do homem, que resmungou algumas palavras ininteligíveis.
– Uia! Ele está vivo mesmo – disse o menino agora se aproximando do rosto magro do moribundo.
– Água... – abriu os olhos, assustando o garoto.
Paolo pegou o seu odre e verteu um pouco de água na boca fina do homem, que engasgou.
– Está tudo bem? – perguntou o pai.
– Meu cavalo? – disse com a voz embaraçada. – Cadê o meu cavalo?
– Ali – apontou o menino.
O garanhão pastava tranquilo em uma touceira há uns 15 passos de distância.
– Vá lá buscá-lo João! – o pai falou para o filho.
O menino correu e trouxe o cavalo pelas rédeas. O animal obedeceu prontamente e veio tranquilo ruminando o seu jantar.
– Ajude-me a me levantar... – murmurou, com uma expressão de dor.
Paolo ergueu-lhe pelo braço e precisou segurá-lo quando ele tonteou. Suas pernas estavam bambas.
– Você pode me dar um pouco mais de água? – pediu Ugo.
O homem lhe estendeu o odre e ele jogou a água no seu rosto, limpando um pouco do sangue emplastado com a mão.
– Obrigado – falou com a respiração pesada. – Só um último favor...
– Diga.
– Preciso montar no meu cavalo.
Paolo ajudou-o a subir no garanhão. Não precisou fazer muita força, pois Ugo era magro e leve, apesar de alto.
Ele já se preparava para seguir seu caminho, quando foi interrompido por uma voz fina.
– Senhor – a mulher falou pela primeira vez.
– Sim – disse impaciente.
– Minha bebê está muito doente e não sei se vai aguentar chegar até a igreja... – falou com a voz embargada. – Você poderia fazer uma oração pela sua alma?
– Agora? – irritou-se. Não vê o meu estado, mulher?
– É que ela não vai aguentar... – disse com o rosto vermelho. – E eu queria que a sua alma...
Ugo não esperou a mulher terminar de falar e começou a rezar.
– Que Deus Pai, Todo Poderoso, receba essa criança em seus braços. Por esta Santa Unção e pela sua misericórdia, o Senhor te perdoe de todos os pecados cometidos – falou apressado e sem qualquer preocupação com a criança. – Amém.
Fez o sinal da cruz e galopou, com o corpo arqueado sobre o cavalo e sem olhar para trás.
– Mas é só isso? – perguntou o filho mais velho. – Para os meus outros quatro irmãos que morreram eu me lembro que a reza foi mais longa.
O pai olhou para a mulher e deu um safanão na cabeça do moleque.
– Cala a boca e anda! – disse seguindo o caminho pela estrada poeirenta. – Vai ver que a reza mudou.
– É, foi tão curta que ele nem pediu uma moeda.
– Ô moleque de boca grande – ameaçou correr atrás do filho, que se adiantou e fugiu rápido pela estrada.
O menor soltou a mão da mãe e correu atrás do irmão.
– Esse é desbocado, mas pelo menos tem saúde – disse a mãe com um sorriso amarelento. – E o pequeno também é forte como um bezerro.
– E que Deus os conserve assim – respondeu o pai.
A noite caiu e o céu ficou salpicado de estrelas, com uma lua magnífica iluminando a estrada.
E a família continuou, parando apenas para comer os últimos pedaços de pão seco e para enterrar a bebê ao lado de uma urze espinhenta.
Capítulo XIII – Espantalho
Irmão Caio, venha me ajudar. Rápido! – chamou o velho monge ao ver um homem se aproximar, quase desmaiado sobre o seu cavalo.
– Santo Deus! – disse Caio levantando o hábito para correr pelo caminho de pedra. – Minha Nossa Senhora!
O cavalo de Ugo parou e ele desmontou com dificuldade, amparado pelos homens. Seu rosto estava coberto de sangue seco e sua expressão era um misto de dor e fadiga.
– Preciso de bandagens e unguentos... – disse se apoiando no ombro de Caio. – Preciso...
– Calma, irmão – falou o velho monge. – Vamos cuidar de você. Não se preocupe.
Os homens levaram Ugo para dentro da pequena igreja de madeira e limparam os seus ferimentos. Os outros irmãos e noviços começaram a se amontoar para ver o que estava acontecendo, mas o ancião, com um gesto firme, ordenou para eles se afastarem.
– O que aconteceu? – perguntou o velho monge com a voz tranquila.
– Fui atacado na estrada – disse Ugo depois de assoar o nariz. – Alguém me atirou uma pedra na cabeça. Não consegui ver quem foi, pois desmaiei imediatamente. Daí fui acordado por uns transeuntes e consegui capengar até aqui.
– Que sacrilégio atacar um homem de Deus – disse Caio. – Realmente devemos estar próximos do fim dos tempos. Daqui a pouco veremos Satanás emergir do inferno com a horda de demônios e anjos caídos.
Benzeu-se.
O velho monge olhou para o irmão Caio com reprovação por toda essa efusividade e ele se encolheu, entendendo o recado silencioso.
–
Os três continuaram a conversa enquanto o ferimento era coberto com um macerado de cebolas, repolho, alho, saião e sálvia. O corte da bochecha fora costurado.
– Roubaram algo? – perguntou o idoso.
– Não – respondeu sentindo um pouco de alívio por causa da massa fria passada sobre o ferimento.
– Que coisa estranha – disse Pedro.
– Vocês teriam algo para comer, se não for incomodar? – pediu Ugo.
– Ah sim! – Caio correu para os fundos da pequena igreja, saindo por uma portinhola que rangeu alto ao ser aberta.
Pouco tempo depois, trouxe uma sopa de couve e ovos cozidos e uma caneca de vinho claro.
Ugo bebeu um gole da bebida quase azeda e comeu a sopa e os ovos. Sentiu-se melhor, apesar de ainda estar tonto e fraco.
– Por sorte, não quebrou o osso – falou o ancião. – Foi uma pancada muito feia. Você vai precisar de alguns dias de repouso.
– É... Eu estou muito cansado – disse sentindo as pálpebras pesadas. – Gostaria de dormir um pouco.
– Vamos deixá-lo descansar, Caio – falou o velho monge. – Leve-o para o dormitório, arrume uma cama e lhe dê cobertores.
Ugo andou amparado por Caio, tendo vertigens a cada passo. Sentou-se em uma cadeira enquanto a cama era preparada. Tudo rodava.
Lembrou-se das várias vezes que foi ferido em batalhas. Pensou nos seus amigos que morreram em decorrência de cortes, perfurações e infecções. Ugo fora forjado na guerra e se remoía por ter sido pego de surpresa pelos fedelhos insolentes. A vida na igreja tinha o feito ficar mole, mas isso serviu de lição e ele nunca mais abaixaria a guarda.
Se quisesse trazer o tal Alessio novamente para o caminho da retidão, precisava voltar a pensar e a agir como um soldado. Um soldado de Deus, de fato, mas um soldado.
Um garoto lhe trouxe um chá e deixou sobre um baú ao lado da cama.
– Nós cuidaremos do seu cavalo – disse o jovem.
– Obrigado.
– Pronto – Caio falou.
Ugo deitou-se e logo dormiu, exausto, algo parecido com um desmaio.
Sonhou com crianças gigantes e pedras sendo atiradas por catapultas. E sentiu-se apavorado quando viu um Lino imenso empunhar a sua adaga, sua estimada ferramenta para o trabalho divino, agora do tamanho de uma espada, e cortar a sua barriga, fazendo as tripas saltarem para fora do corpo, uma massa molenga, pegajosa e fétida.
Viu os rostos de inimigos mortos em batalhas. E eles zombavam da sua dor e desespero.
Ugo caiu de joelhos, tentando recolocar as entranhas no lugar, mas suas mãos pareciam feitas de fumaça. Viu os seus intestinos se misturarem com a terra, de onde saíam vermes e baratas. Podia sentir as criaturas se remexendo em suas entranhas, subindo pelas tripas expostas, mordiscando e beliscando.
Gritava e sua voz não saía.
Chorava, mas estava sufocado, como se tivesse inalado muita fumaça. Sentia um aperto na garganta e o coração explodindo no peito.
Então, Lino sorriu, e os seus olhos pareciam cintilar.
E com um golpe rápido, separou a sua cabeça do seu corpo estripado, que tombou de lado com um baque seco.
Ugo acordou assustado, suado e com uma dor de cabeça infernal.
Vomitou um caldo esverdeado.
Estava com falta de ar, trêmulo.
Mais uma golfada, dessa vez amarelenta.
O velho monge e Caio dormiam ao seu lado e não acordaram. Alguns irmãos despertaram, mas permaneceram nas suas camas quando frei Ugo levantou a mão para dizer que tudo estava bem.
Ugo colocou a mão sobre a testa. Estava febril, quente como se tivesse acabado de sair de um dos banhos romanos.
Sentou-se na cama.
Sua cabeça rodou.
Colocou as mãos sobre o rosto até a tonteira diminuir.
Calafrios percorreram o seu corpo.
– Se eu sobreviver a isto – murmurou para si mesmo – mostrarei ao menino Lino que somente uma vida devota à Deus pode apagar as suas atitudes pecaminosas. Também trarei o seu amigo para o caminho do Senhor. Sim, eles estão perdidos e precisam encontrar o rumo certo. Os pobres devem estar sob influência do mal. Quem sabe Alessio tenha sido um porta-voz disso?
Ugo bebeu o chá frio e desabou novamente na cama. E durante toda a noite, o seu sono foi entrecortado por pesadelos inconstantes e súbitos despertares. Até que uma fadiga letárgica o dominou, um pouco antes de o galo cantar. E sua mente desligou-se até o Sol já estar alto no céu.
– Pelo meu bom Deus – disse Lucio passando a mão sobre o barrigão inchado. – Que refeição abençoada. Acho que vou ficar uma semana sem comer.
– Eu também – Pança, que estava sentado na mesma posição do monge assentiu, respirando com dificuldade de tão estufado.
– Mentiroso – falou Arroto. – Antes de dormir é capaz de você ainda roer um pão.
– Se estiver quentinho... – falou o gordinho lambendo os beiços.
– Saco sem fundo – falou o menininho. – Se você fosse um porco, já estaria prontinho para ser assado.
Todos na mesa começaram a rir.
Então Lino se aproximou deles. E sua expressão não denunciava nada, nem alegria, nem tristeza.
– Tudo bem? – perguntou Mario.
– Sim... Eu acho.
– Alessio não quis se juntar a nós? – perguntou Lucio já sabendo a resposta.
– Não. Ele foi atrás do frei Ugo.
– Frei Ugo? – indagou o gorducho ressabiado.
– Sim... Mas não quero repetir a história agora – disse com uma pontada de tristeza. – Podemos ir embora, amigos?
Prontamente todos se levantaram.
– Você não vai comer nada? – Lucio tocou no ombro do menino.
– Estou sem fome.
Ruggero deixou uma moeda de prata em cima da mesa que foi prontamente recolhida pelo filho do dono do local.
– Para onde vocês vão? – perguntou o irmão gorducho.
– Para a nossa casa – falou Mario saindo pela porta.
– Meu santo Cristo! – exasperou-se. – O que o Alessio foi fazer atrás do tal frei Ugo? Eu não conheço ninguém com esse nome. Conhecia, mas ele morreu há uns cinco anos.
Não houve qualquer resposta. Então ele correu atrás dos garotos, que já se distanciavam.
– Posso ir com vocês? – perguntou.
– Melhor não – falou Tonina. – Ninguém pode saber onde é o nosso acampamento. Adultos trazem muitos problemas. Ainda mais os que vestem hábitos.
– Ele parece ser legal – falou o pequeno Arroto.
– Eu também acho – respondeu Pança.
– Se o meu pai confia nele, deve ser gente boa.
– Sei não... – Ruggero coçou a cabeça.
– Vamos levá-lo – falou Mario decidido. – E qualquer gracinha a gente mata ele e joga os restos para os javalis.
– Ahahah – Lucio riu.
Os garotos permaneceram quietos e seguiram o seu caminho.
– Ei, Pedro, ele não está falando sério, está? – perguntou ressabiado.
O menino deu os ombros e continuou andando.
Lucio pegou o seu cavalo pelas rédeas e seguiu os meninos.
– Cavalinho – disse acariciando o focinho do pangaré – Vamos nos comportar porque esses meninos são doidos e eu não quero virar comida de nenhum bicho.
O cavalo bufou, puxando a carroça a passos lentos. As rodas estalavam a cada giro, quebrando a calmaria da noite.
E não demorou muito para eles entrarem no bosque escuro. Lucio não enxergava nada, mas os meninos conheciam o caminho como as palmas de suas mãos. Assoviavam e cantarolavam músicas inventadas por eles mesmos. Grilos, cigarras e alguma coruja acompanhavam a melodia noturna e o irmão se assustava a cada farfalhar do mato ao seu lado. Depois de caminharem algo em torno de meia-légua, a trilha foi engolida por um matagal mais denso e a carroça se enroscava nos galhos e nas ramagens. Os garotos já estavam distantes e Lucio ofegava, com o rosto molhado de suor, tentando vencer os obstáculos.
Perdeu bastante tempo partindo um galho grosso tombado no meio do caminho. Ele precisou subir em cima dele e pular algumas vezes até ele se quebrar em dois. Fez bastante força para arrastar os pedaços para fora do caminho.
– Esses moleques podiam me ajudar – resmungou.
Entretanto, não ouviu mais os assovios e cantigas das crianças. E não conseguia enxergar mais que poucos passos a sua frente.
– Ai meu São Sebastião! – cruzou as mãos. – Que medo!
Ele puxou o pangaré com vigor, tentando apressar a marcha, mas ele não se mexeu.
– Agora essa – falou suando em bicas. – Ele empacou. Vamos cavalinho! Prometo que lhe dou um generoso punhado de aveia.
Lucio deu um puxão com mais força e o cavalo magricelo cedeu à pressão.
– Obrigado, meu São Sebastião.
Continuou o mais rápido que conseguiu. Arfando e tropeçando nas raízes das árvores. Mas subitamente, um barulho mais alto ao seu lado prendeu a sua atenção.
Um arbusto chacoalhou com vigor. Lucio estancou, apavorado. Sua bochecha direita tremia e seus joelhos estavam tais qual manteiga. Sentiu a bexiga cheia, mas fez um esforço para não se mijar.
Outro farfalhar e ele já fazia uma careta de choro, testa franzida e um bico estranho. Então, subitamente, Tullio saltou para a trilha, soltando um estrondoso arroto.
Lucio gritou e deu passos sem firmeza para trás, tropeçando e caindo em cima de um cacto. Tão rápido quanto desabou, levantou-se em um pulo, gritando de dor, enquanto os meninos que estavam escondidos um pouco à frente riam de se esgoelarem.
– Ai meu traseiro! – falou o gorducho. – Ai meu traseiro!
– Que nome engraçado para a bunda – divertiu-se Arroto.
Ele puxou o hábito e conseguiu tirar o cacto, entretanto alguns espinhos teimosos ainda permaneceram incômodos.
– Isso não se faz – ralhou com o Arroto. – Isso é pecado e você vai rezar dez Ave-Marias antes de dormir.
O menininho encarou o gorducho, segurando o riso.
– Eu falo sério – Lucio impôs-se. – E mais dez Pai-Nossos!
Tullio, ao invés de se sentir intimidado, apenas fez jus ao seu apelido, soltando mais um dos seus estrondosos arrotos e correu para junto da turma, que não parou um instante sequer de rir.
– Que menino safado – falou Lucio.
– Eu vou me mijar! – disse Mario se contorcendo no chão. – Que engraçado.
– Eu já me mijei! – respondeu Pança se esgoelando de tanto rir.
– Que nojo! – Tonina ria tanto quanto os amigos.
Lucio ficou vermelho, um misto de vergonha e raiva. Mas restou-lhe apenas prosseguir até o acampamento, sendo alvo de chacotas e tendo a bunda pinicada a cada passo.
Chegaram à pequena clareira com o casebre muito velho parecendo uma grande pedra na escuridão.
– Pelo jeito vou precisar tomar banho, para poder tirar todos esses espinhos – falou consigo mesmo. – E eu só pretendia fazer isso daqui a uns meses.
Todavia, não cumpriu a tarefa, estava tão exausto que dormiu assim que Ruggero acendeu a fogueira dentro da velha cabana para espantar os mosquitos e o frio. E os demais, permaneceram acordados por causa dos estrondosos roncos do irmão gordo, até Chulé ter a genial ideia de enfiar um pano na boca dele para abafar o som.
– Eu fazia isso com o meu tio e ele também não acordava – falou ao se arrumar no seu canto.
– Boa noite pessoal – falou Tonina.
Todos responderam em uníssono e o casebre ficou em relativo silêncio, com roncos abafados.
Contudo, a paz não durou muito, pois alguém soltou um ruidoso peido, daqueles que começam graves e terminam em um chiado agudo.
Gargalhadas.
– Deus, que fedor – falou Ruggero.
– Pança, seu porco! – resmungou Tonina com o nariz tapado.
– Ei – gritou o gordinho. – Quem disse que fui eu?
– Esse foi dos bons – falou Tullio.
– Obrigado – entregou-se Pedro.
– Pança, seu infeliz! – falou Mario. – Deve ter borrado as calças!
– Ahahaha – riu o gordinho. – Foi aquele pão de frutas.
– Para mim tem cheiro de carne podre – disse Tonina.
– Hum... Então esse peido está preso na minha barriga desde ontem – disse Pança. – Deve ter sido o coelho cozido.
A algazarra prosseguiu por um bom tempo, até as crianças se acalmarem e dormirem.
E, alheio a tudo, em uma paz plena, Lucio prosseguia roncando e sonhando com vinhos, guloseimas e belos pedaços de pancetta grelhados com alecrim e erva-doce.
– Sangue seco... – agachei-me na beira da estrada e toquei a mancha escura. O cheiro de ferro era pungente e aguçou a minha sede, mas ela esperaria. – Bem onde Lino disse que o maldito levou uma pedrada. Mas, cadê esse infeliz?
Percebi marcas de cascos na estrada, mas eram muitas. Mercadores, peregrinos, mendigos, nobres e soldados, todos usavam aquela rota.
– Para onde ele foi?
Olhei para os dois lados da estrada. Enxergava perfeitamente, contudo, não havia nada para ver, pois os caminhos estavam desertos.
– Merda... – rosnei.
– Precisando de ajuda, meu amigo?
Virei-me com um pulo e vi Raposa sentada em um galho alto de uma árvore. Ela estava usando um vestido muito bonito e balançava as pernas com suavidade.
– Tita! – relaxei os músculos. – Você me assustou.
– Oh! Desculpe – deu uma risadinha marota. – Não foi a minha intenção. Achei que você tinha me percebido, mas acho que fui silenciosa demais – pulou da árvore e caiu no chão sem qualquer ruído. Estava descalça. – Andei praticando – divertiu-se. – E estou ficando boa nisso.
Ela se aproximou e nos abraçamos. Os seus cabelos acobreados cheiravam a flores, como se tivessem sido esfregados em rosas.
– O que lhe aflige? – perguntou Raposa.
– Preciso achar um monge...
– Nossa! Isso não deve ser difícil, mesmo porque nessa região há mais igrejas do que casas. – riu. – Precisa se confessar? Andou pecando muito na minha ausência?
– Não – balancei a cabeça. – Preciso achar um monge.
– Bom, aí a coisa complica um pouco... – colocou a mão nos quadris. – Aqui na Itália deve haver milhares deles. É como encontrar uma semente em um palheiro.
– O maldito estava bem aqui – apontei para o local com sangue seco misturado a terra. – Não deve ter ido longe.
Assoviou.
– Pelo visto pegaram ele de jeito – disse tocando o sangue seco. – Foi uma paulada?
– Pedrada – respondi. – Esse desgraçado fez a minha mulher ter um ataque do coração e tentou matar o meu filho. Deu uma facada na mão do menino.
– Já vi isso acontecer algumas vezes – falou com certa displicência. – E o meu palpite é que ele deve estar indo para o norte – apontou Raposa.
– Como você sabe?
– Bom, é apenas um palpite... – estalou os dedos. – Mentira! – riu. – Um pouco a frente tem mais umas gotas de sangue no chão.
A garota deu quatro pulos e se agachou. Acompanhei-a e vi resquícios de sangue. Na verdade, mais senti o odor dele, pois as manchas na terra não estavam tão nítidas quanto a poça de sangue que eu encontrei.
– Para o norte, então – falei.
– É uma boa escolha, afinal, você ainda pretende ir para Roma, certo?
– Sim, pretendo – respondi. – Mas antes preciso ter uma conversa com o safado.
– Posso acompanhá-lo?
– Venha – falei seguindo a passos largos pela estrada. – E você, o que faz por aqui? Está me seguindo?
– Seguindo você? – franziu a testa. – Não, não! Eu fui fazer uma visita ao mosteiro do abade Nicola.
– Sério? Para quê?
– Bom... – coçou a orelha. – Queria conhecê-lo... Na verdade, estava sem nada para fazer e resolvi dar uma passadinha por lá.
– E você entrou no mosteiro, falou com alguém? – perguntei ansioso.
– Entrei e troquei algumas palavras com o tal Nicola – falou parecendo mais interessada em uma mariposa que a rodeava. – Mas o velho parecia meio perturbado. Estava com as ideias tortas na cabeça, se bem que ele era todo torto, mas deixa pra lá... Então antes das coisas ficarem quentes por lá, eu fui embora.
– Perturbado? – indaguei.
– É... – respondeu com um sorriso. – Meio doido das ideias. Não quero falar sobre isso agora. Outra noite lhe conto mais, pode ser?
Apenas soergui os ombros e continuei pela estrada.
– Acho que vai amanhecer logo... – falou Tita. – Mas não se preocupe. Sei de um lugar onde podemos dormir.
– Queria achar o maldito homem antes...
– Para que a pressa? – tocou no meu ombro. – Você tem todo o tempo do mundo.
Gargalhou.
Apesar de a raiva apertar no meu peito, também ri. A companhia de Raposa me fazia bem e deixava o meu espírito um pouco mais leve.
– Você me lembra daqueles artistas que vêm em caravana fazer gracinhas nas feiras de domingo em troca de moedas. Os meus preferidos sempre são os anões.
– Obrigada– ficou de joelhos. – Quando eu era criança, participei de algumas apresentações em Roma. Sempre ganhava algum dinheiro para gastar em doces e vinho. Bons tempos aqueles, de anfiteatros lotados.
– Devem ter sido mesmo... – falei. – Ei, o que é um anfiteatro?
– É um local grande onde os artistas se apresentavam – falou gesticulando bastante. – Alguns foram destruídos para construírem igrejas, mas restaram alguns muito bonitos. Quando chegarmos a Roma conhecerá um. Quem sabe eu até cante para você.
Riu.
Caminhamos até o céu começar a se avermelhar no horizonte.
– Ei Alessio... – falou Raposa. – Que tal uma corridinha?
– Correr? Para quê?
– Não sei se reparou, mas o Sol já vai despontar – apontou para o leste. – Não sei você, mas eu não quero virar carne-assada. Já bastam as minhas sardas!
– É mesmo – preocupei-me. – Eu estava tão distraído com os meus pensamentos que nem percebi. E agora?
– Agora? Chega de conversa e corre! – gritou Raposa já se embrenhando na mata. – Não se perca.
A garota era rápida como uma perdiz fugindo de um cão faminto. E acompanhá-la foi muito difícil. Ela levantou o vestido, mostrando as canelas brancas e finas.
A floresta ficou para trás e seguimos por uma estrada pavimentada, com os paralelepípedos cobertos por ervas daninhas e mato. O dia ficava cada vez mais claro e eu já sentia a minha pele esquentar de maneira incômoda.
Logo à frente, ruínas. Raposa deu um pique e me esperou no que um dia foi o pórtico de entrada.
– Vamos logo! – gritou.
Apressei o passo, a minha nuca ardia e o ar nos meus pulmões parecia fumaça. Mais quinze passos largos e eu entrei pelo pórtico.
– Meu Deus! – falei desesperado. – O teto desabou e não temos onde nos esconder.
Tita, apenas sorriu e adentrou pelas ruínas. Uma estátua de algum deus romano jazia tombada e coberta de musgos. A jovem pulou a cabeça de mármore e eu fiz o mesmo.
A minha pele parecia fumegar e uma dor lancinante percorreu a minha perna quando um raio de sol tocou o meu calcanhar esquerdo.
– Vamos morrer! – gritei.
Então, ela se abaixou e levantou com esforço uma grande tampa de mármore escuro. Embaixo, havia algo que um dia foi um túnel com degraus escavados na terra.
– Entre – falou segurando a pedra. – Não temos o dia todo.
Seu rosto estava vermelho, não por causa da força que fazia, mas pela claridade cada vez mais ofuscante.
Desci correndo pela escadaria estreita. E Raposa veio logo em seguida, abaixando a pedra sobre as nossas cabeças. Minha pele parou de arder e eu senti tremendo alívio.
– Ufa! Essa foi por pouco!
– Verdade... – respondi.
Estava um breu e mesmo com os olhos acostumados à escuridão, não conseguia enxergar nada. Ouvi um barulho atrás de mim e de repente, um clarão. Raposa acendeu uma tocha e iluminou o recinto quadrado em que estávamos.
Havia vários crânios nas paredes e montes de ossos pelos cantos.
– Que lugar é esse? – perguntei ao fazer o sinal da cruz.
– Os sacerdotes guardavam os ossos das pessoas mortas em sacrifício ao deus Marte – falou ao sentar-se no chão e encostar as costas na parede úmida.
– Marte?
– Sim, o nosso deus da guerra – falou balançando a tocha como se quisesse fazer desenhos com as chamas. – Nunca ouviu falar dele?
– Não.
– Os homens, antes de entrarem em batalha, sempre pediam a vitória a ele – seus olhos refletiam a luz das chamas. – E, muitas vezes, os generais faziam sacrifícios para ter a ajuda do poderoso Marte. Por isso tantos crânios e ossos.
– Nossa – falei. – Você viveu em tempos bem selvagens, hein?
Raposa fez uma expressão de escárnio.
Não se esqueça de que o seu deus já pediu diversos primogênitos em sacrifício – apontou o dedo para o alto. – Inclusive deixou o seu próprio filho morrer.
– Foi para nos salvar, para expiar os nossos pecados – retruquei.
– E agora o mundo é um lugar lindo e perfeito – zombou.
Não respondi, apenas sentei-me também.
– Estou com sono – falei. – Acho que vou dormir.
– Espero que não tenha ficado bravo – Raposa levantou-se e colocou a tocha em um suporte na parede. – Mas saiba que o seu deus e os deuses antigos são da mesma estirpe. Isso é... Se eles ainda estão sobre as nossas cabeças – estalou os dedos. – Um dia, assim que esse tal de cristianismo foi imposto em Roma, ouvi dizer que os deuses, quando são esquecidos e não recebem mais orações e oferendas, simplesmente somem. E, passados, todos esses anos, esses séculos, é possível que não tenha mais nenhum zanzando por aqui.
– E não tem mesmo – falei irritado. – Porque agora temos o verdadeiro Deus, o Deus único.
– Sei... Sei... – deitou-se usando um crânio como travesseiro. – Mas até quando? Deuses vêm e vão...
Não retruquei, pois não tinha resposta, ou qualquer certeza. Entretanto, antes de dormir, fiz a minha oração, pedindo proteção para o meu filho, para o Lucio e os meninos da floresta e também um pouco de luz para a minha missão. E pedi para Deus não ir embora, pois eu precisava da sua ajuda.
Mas não sei se seria atendido. Porque muito em breve eu mataria um homem de Deus. E isso era um pecado inimaginável. E, de pecados, a minha alma estava repleta.
Adormeci. E sonhei com Roma, com suas imensas construções que nunca vi. E, dessa vez, imaginei que o monstro que me transformou no que sou estava me observando, em silêncio, enquanto eu me fartava com o sangue de uma mulher de cabelos amarelos como o mais puro ouro.
Senti imenso prazer e dei longos goles enquanto ele permanecia impassível.
E, de repente, o sonho se desfez como fumaça ao vento. E não me lembro de nada mais, mas durante todo o meu sono, tive a impressão de ter sido velado por aquele que me prendeu para sempre no mundo das trevas.
– Por quanto tempo eu dormi? – Ugo despertou desnorteado.
– Você dormiu por dois dias, filho – disse o velho monge trazendo-lhe um mingau grosso – Está melhor?
– Sim – disse ao sentar-se na cama. – Minha cabeça já não dói tanto, apesar de ainda latejar.
– Deus seja louvado – falou o monge. – Você teve delírios por causa da febre, mas os irmãos cuidaram bem de você.
– E eu sou agradecido.
– Trouxe um pouco de mingau. Se você conseguir comer vai ser bom para a sua recuperação.
– Comerei, mas antes vou lá fora me aliviar e respirar um pouco de ar fresco.
– Como quiser – o velho levantou-se e fez uma mesura antes de se afastar.
Ugo saiu do dormitório e o ar fresco da manhã lhe deu ânimo. Caminhou devagar e se aliviou atrás de uma árvore. Um pequeno córrego passava logo adiante e o monge foi até ele para lavar o rosto. A água fria ajudou-o a despertar completamente.
Colocou a mão ao lado da cabeça e viu que o ferimento já estava cicatrizado, com uma grossa crosta de sangue coagulado formada. A sua bochecha ardia um pouco, mas logo sararia. Apesar de a pancada na têmpora ter sido feia, teve sorte, pois poderia ter morrido ou ficado idiota. E, tirando a dor e a fraqueza, ele estava perfeito.
Passou um pouco mais de água pelo rosto, pescoço e braços, sentiu as cicatrizes antigas. Cada parte do seu corpo magro era esquadrinhada por elas. Cicatrizes conquistadas na guerra ou por autopunições.
Viu pequenas touceiras de funcho crescendo ao lado da água e arrancou uma planta com cuidado. Tirou um pouco da terra e comeu as raízes. Elas iriam ajudar a eliminar os maus humores do seu corpo por meio da urina.
Voltou para o dormitório, tomou seu mingau e foi até a igreja. As orações das terças estavam sendo feitas e ele acompanhou o culto. Terminadas as obrigações foi até o estábulo e viu que seu cavalo estava bem alimentado, com mato fresco e até mesmo alguns torrões de sal. Agradeceu ao noviço e decidiu caminhar um pouco para fazer o sangue circular.
Estava fraco e sua cabeça doía irritantemente, como se pressionada por um elmo muito pequeno. Lembrou-se do filho de Alessio, da pedrada e viu-se de punhos cerrados e mandíbulas travadas.
Respirou fundo e tentou se acalmar, pois sabia que a raiva não era um sentimento digno. Lino sofreria punições, mas pelos motivos certos e pela vontade de Deus.
Pegou a sua adaga, sua companheira de jornada. Retirou-a da bainha e viu a lâmina brilhar, refletindo o tímido Sol. Olhou ao redor e viu que estava sozinho. Levantou o hábito e fez um corte logo acima do joelho esquerdo. Mais uma marca para lembrá-lo da falibilidade da carne. Fechou os olhos e fez uma prece, enquanto o sangue quente escorria pela sua canela fina. Abaixou sua vestimenta e continuou seu passeio. O contato entre o corte e o pano grosseiro fazia sua coxa arder.
Ugo apreciava aquilo, pois acreditava na purificação pela dor, sabia que a cada gota de sangue seu espírito se fortalecia e ficava mais perto da plenitude.
Ficou um tempo em silêncio, contemplando os pastos, as vacas amamentando os bezerros e as cabras e ovelhas pastando tranquilamente enquanto um grande cão pastor branco dormitava debaixo de uma pereira frondosa.
Lá adiante, onde a colina parecia encontrar as nuvens, duas pessoas puxavam um carro de boi para arar a terra pedregosa. Ugo esticou a mão e eles cabiam entre o indicador e o polegar. Lembrou-se das lendas dos duendes, seres pequeninos que aprontam travessuras e guardam para si grandes tesouros. O povo é temeroso e preocupado demais com as tais crendices dos antigos. Ainda mais se estiverem sob o efeito do álcool e em rodas de amigos.
E não adiantava tentar extirpá-las à força, pois elas permaneciam enraizadas e eram repassadas de pai para filho em tradições e histórias à beira das fogueiras. Eram doenças com as quais todos precisavam conviver.
Um bando de estorninhos ficou por uns instantes em uma revoada bem perto do chão, antes de pousar no mato alto. Começaram uma cantoria que alegrou o seu coração.
– Deus criou a perfeição e o equilíbrio, mas o homem resolveu desvirtuar tudo – falou admirando os passarinhos.
Então, subitamente um gato malhado deu o bote e conseguiu pegar um dos estorninhos, que morreu imediatamente por entre suas aguçadas presas. O felino subiu em uma pedra e começou a depenar a ave. Pouco depois já comia tranquilamente as parcas carnes até não sobrar nem os ossos. Deitou-se de lado e fechou os olhos. Adormeceu sob o Sol.
– Tudo é perfeito – falou Ugo. – Presas e predadores, vida e morte, tudo é perfeito.
Esticou os braços sobre a cabeça, estalando os ossos dos ombros e do pescoço e retornou para a igreja vagarosamente. Sentiu um cheiro gostoso de pães sendo assados. Seu estômago roncou. Precisava se alimentar bem para se fortalecer e prosseguir com a sua missão.
Tinha pressa, mas sabia que ainda não estava em condições de viajar.
A Itália é grande, mas pela graça de Deus encontraria Alessio. E ele teria a absolvição dos seus pecados, teria a sua redenção.
Foi até a cozinha onde os monges já comiam em silêncio. Sentou-se à mesa e pegou uma fatia grossa de pão preto. Colocou o caldo na tigela e umedeceu o pão nele. Era uma refeição frugal, mas estava bem feita.
Depois de se alimentar, teve sono. Lembrou-se do gato. Bocejou. Foi até o dormitório e deitou-se. E, em um piscar de olhos já estava dormindo e sonhando com um Alessio adornado com uma coroa de espinhos.
– Ei Barril! – Ruggero chamou Lucio pelo seu novo apelido, dado pelo sabido Arroto.
– Eu preciso mesmo ter um apelido? – resmungou. – Não sou mais um moleque.
– Se quiser ficar conosco sim – o Tripa respondeu no ato.
Lucio balançou a cabeça negativamente, mas se aproximou do garoto.
– O que você quer? – disse ao coçar o barrigão.
– Vai lá ao rio e veja se pegamos algum peixe na armadilha.
– Pelo amor do meu bom Deus – chiou Lucio. – O rio fica longe demais.
– Pare de reclamar, seu preguiçoso – ralhou Ruggero. – Você só quer saber de comer e dormir. Vá andar um pouco para ver se diminui o tamanho da sua pança!
– Chamou? – o menino gordinho apareceu.
– Não, não chamei – falou Ruggero irritado. – Mas já que está aqui, vai com o Barril ver se há peixes na armadilha.
– Cacete! – deu um tapa na sua testa. – O rio é...
– Cala a boca e vai logo, seu resmungão. Vocês parecem pai e filho.
– Bom, eu cometi alguns pecados na minha vida, mas o Pedro não se parece comigo... – murmurou Lucio ao pegar um saco e ir rumo ao rio com o Pança ao seu lado.
Ambos andavam arrastando as sandálias e com os corpos meio curvados para a esquerda.
– Não seja tão duro com ele – falou Mario trazendo uma maçã para o amigo.
– Ele já está conosco há mais de dez dias e só o que fez foi diminuir nosso estoque de comida.
Mario riu e se afastou. Sentou-se recostado ao tronco de um velho cipreste e continuou a talhar cuidadosamente a ponta de uma vara de teixo que roubou da carga de um mercador.
– Agora só preciso arranjar uma boa corda de cânhamo e umas flechas – disse para Arroto que estava ao seu lado, brincando com um cavalinho de madeira.
– Na feira de Benevento sempre tem um velhinho zarolho vendendo isso para os soldados – falou ao fazer o seu cavalinho pular por sobre uma pedra. – Quando formos para aquele lado eu posso roubar para você. Vai ser fácil, ele tem um olho apontado para cada lado da cara.
– Obrigado – respondeu Chulé. – Aliás, quando você esteve em Benevento?
– Você se lembra daquela vez que fiquei uns dias fora? – falou empinando o cavalinho. – Então, eu tinha tentado roubar um conde, mas ele me pegou. Daí ele me levou praticamente amarrado para Benevento, para o seu castelo – assoou o nariz e limpou a mão no tronco do cipreste. – Mas quando anoiteceu eu consegui fugir. E ainda roubei umas boas moedas dele.
Eles riram e comeram as maçãs que Tonina ganhou de um construtor que viajava com a sua família. Ela lhe indicou o caminho para um mosteiro incendiado que seria reconstruído por ele e, como agradecimento, o homem lhe deu um saco de maçãs que trazia em sua carroça.
Enquanto isso, Lino estava ensinando a menina a atirar com uma funda.
– Acertou mais uma – disse quando ela derrubou um toquinho que estava sobre o galho de uma árvore.
– Nossa, eu tenho essa funda há bastante tempo, mas nunca conseguia acertar nada.
– Tudo é questão de treino. Eu mesmo consigo acertar um pato há 30 passos e de olhos fechados. – gabou-se.
– Não exagere! Mas obrigado por me ensinar – Tonina deu um beijo na bochecha de Lino, que corou instantaneamente.
– Puxa... – Lino disse com um sorriso bobo no rosto.
O filho de Alessio estava com o coração mais ameno depois de ter encontrado o pai. Ainda sentia pela mãe morta e a raiva do frei Ugo maldito ainda permanecia, porém, de certa forma, junto da turma, voltou a ser criança.
.
.
.
– Ei, Pedro! – Lucio chamou o garoto que mijava em uma árvore. – Você vai me ajudar a pegar esses peixes?
– A água está muito fria – falou o menino.
– Então você não vai comer nenhum quando voltarmos.
– Merda... – o gordinho pulou no rio, com a água um pouco acima dos seus joelhos. – Vai, vamos logo puxar esse cesto. Se essa água pegar no meu saco ele vai congelar.
Eles retiraram a armadilha do rio e dentro dela havia uns sete peixes médios.
– Já dá para fazer um ensopado com cenouras, rábanos e cebolas – falou Lucio.
– E se a gente assasse uns dois agora? – falou Pança esfregando as mãos. – Eu faço uma fogueira rapidinho.
– Deixe de ser guloso – falou Lucio colocando os peixes no saco. – Isso é pecado. A gente sempre precisa dividir os alimentos.
– Então por que você esconde um odre de vinho no meio da sua manta?
– Seu moleque safado! – o rosto do irmão gorducho estava vermelho. – Aquilo não é vinho, é uma infusão de uvas para melhorar o dolor artuum.
– Para mim tem gosto de vinho – insistiu.
– Por isso que os odres têm ficado vazios tão depressa – enervou-se. – E eu achando que estava bebendo demais. Eu devia te dar uns bons cascudos. Porém, Deus nos disse para perdoarmos os pecadores.
– Ei Lucio, como você entrou para a igreja? – disse Pança ao pular novamente no rio para posicionar a armadilha. – Que água fria!
– Nossa... Faz muito tempo – disse cofiando a barba. – Eu era só um pouco mais velho que você. Foi meu pai que me levou ao abade Nicola.
– Por quê?
– Bem, não sei direito o porquê, mas acho que ele não poderia me alimentar – sentou-se sobre um tronco caído. – Eu era o mais novo de quatro irmãos e a fazenda da nossa família não produzia tanto. E tínhamos muitas dívidas com o dono das terras.
– É... – o menino sentou-se ao seu lado, torcendo a calça molhada. – E você come igual a um porco.
Lucio bateu no cocuruto dele com o nó do dedo.
– Ai! – gritou. – E eu estou mentindo?
– Naquela época eu era magrinho.
– Nossa. Então eu quero ir para esse mosteiro, pois a comida deve ser muito boa – esfregou a barriga saliente.
– Nem me fale – Lucio lambeu os beiços. – O abade Nicola sempre foi muito farto. Mas eu aprontei demais e não posso voltar. Tenho vergonha.
– E você tem saudades? – perguntou Pança.
– Tenho...
Lucio ficou cabisbaixo.
– Sabe – falou o gordinho colocando a calça novamente. – Eu tenho saudades da minha mãe.
– E onde ela está?
– Não sei. Ela é prostituta e cada hora está em um lugar diferente – falou com os olhos vermelhos. – Um dia ela me deixou em uma taverna, dizendo que voltaria logo, mas não voltou. Esperei por ela por dois dias até que fui enxotado pelo dono do lugar.
Lucio colocou o braço em volta dos ombros do menino.
– Agora você tem os seus amigos – disse.
– E você também, não é?
– É – disse ao se levantar. – Vamos voltar antes que escureça!
– Só de pensar em andar tudo de novo, eu tenho vontade de chorar – falou Pança com os ombros curvados.
Lucio deu um tapinha nas costas do menino, pegou o saco com os peixes e eles caminharam pela mata. Já nos primeiros passos da subida pelo barranco não tão íngreme, arfaram. Cada um pensando no seu passado e nas pessoas que ficaram para trás.
– Ei – disse Lúcio, quebrando o silêncio. – Você disse que a sua mãe é prostituta?
– Sim, por quê?
– Então Ruggero pode ter razão... – Lucio mordeu os lábios.
– Sobre o quê? – indagou Pedro.
– Nada, filho, nada...
– Vá com calma Alessio – disse Raposa com a boca suja de sangue. – Beber de um morto não é nada gostoso.
Dei mais um soco na barriga do infeliz, que se dobrou soltando um chiado agudo. Então cravei meus dentes no seu pescoço grosso e suguei até esgotá-lo quase completamente. Soltei-o no chão, agonizante, trêmulo e limpei a boca nas costas da minha mão.
Estava cheio, satisfeito depois de beber de três homens. Sete jaziam mortos e dois morreriam em breve. O chão de pedras estava liso por causa do sangue, do mijo e das tripas dos soldados. E nós estávamos imundos, com as roupas rasgadas e imprestáveis. Contudo, nem ligávamos para o fedor nauseabundo impregnado em nossa pele. A orgia da matança corria em nossas veias. Quente e saborosa.
Tudo foi muito rápido.
Estávamos na frente do templo de Marte conversando. Havia acabado de escurecer e o céu ainda mantinha tons alaranjados.
– Porra – soquei a palma da minha mão. – Por mim eu arrebentava logo aquele miserável.
– E que graça vai ter fazer isso com ele todo estropiado? – falou Tita pegando uma pedra e atirando para longe, bem acima das árvores. – Aguente um pouco mais, meu querido. Espere ele sarar e daí você dá uma coça nele.
– Vou fazer mais do que isso... – rosnei entre os dentes.
– Que seja – falou. – Agora, arrebentar um moribundo é covardia. Ele está mais capenga que uma velha de 50 anos!
– Vou dar mais uns dias e... – fui interrompido por um grupo de soldados que surgiu vindo do bosque. Nove homens vestindo gibões de couro e cotas de malha caminhavam ruidosamente falando alto e gesticulando muito.
– Vamos dormir por aqui mesmo. – falou um dos homens, com cabelos grisalhos e uma grande cicatriz na boca, que deixava seus dentes aparentes.
– Espero que aquele filho da puta nos pague – falou um careca atarracado, com braços da espessura de troncos. – Não aguento mais comer pão mofado e carunchento por não ter dinheiro para pagar uma refeição decente.
– E eu queria pagar por uma boa xoxota – falou um dos soldados que coxeava da perna direita. – Meu pau precisa urgentemente de companhia.
– Depois desse corte que te deixou coxo, Antonio, acho que você não consegue mais satisfazer uma mulher – falou um dos homens.
– Seu bosta de cabrito! – xingou o coxo. – E você que nunca esteve com uma mulher, só com os garotinhos da sua vila.
– Não sei como vocês podem estar preocupados com mulheres – um deles interrompeu. – Eu quero o meu dinheiro.
– Ele vai nos pagar – disse o grisalho. – Fizemos o serviço. E se ele não pagar, eu mesmo enfio a minha espada no rabo dele.
Os homens riram, algo tal quais grunhidos roucos.
– No mínimo já ganhamos essas armas e armaduras – disse um dos homens que tinha bandagens enroladas no seu pescoço.
– E ainda vamos pedir um dinheiro a mais para dar para as mulheres do Jorge e do Enrico – falou um soldado que se apoiava em um grande machado usado para cortar lenha.
– Morrer pisoteado por um cavalo não deve ser bom... – falou um jovem imenso.
– Morrer de qualquer jeito deve ser uma merda, seu estúpido – xingou o soldado coxo.
– Ei, Agostino! – disse um dos mais novos que estava à frente do grupo ao apontar para Raposa e eu com a sua lança. – Veja. Tem duas pessoas sentadas lá adiante.
O homem grisalho se adiantou forçando os olhos.
– Não vejo bosta nenhuma!
– Tem sim – falou outro soldado, alto e esguio como um pinheiro. – Bem ao lado da coluna da esquerda.
– Para mim são somente pedras – disse o homem das bandagens enroladas no pescoço.
– Você é cego como uma marmota – retrucou um dos soldados.
– Vamos até lá – disse o soldado que parecia ser o líder.
Então eles se aproximaram, pisando duro no chão pavimentado.
Fiquei preocupado, tenso, mas Raposa sequer se mexeu e continuou mascando tranquilamente um matinho recém-arrancado. Ela observava uma trilha de formigas que passava bem ao lado do seus pés delicados.
– Olha só! – falou o coxo. – É um maricas e uma garota. Deus ouviu as minhas preces e mandou uma xoxota!
– Vocês dois – falou o tal Agostino ao chegar a apenas alguns passos de nós.
– Pois não, senhor? – disse Tita com displicência.
– Quem é você? – perguntou o homem segurando o punho da sua espada.
– Meu nome é Tita Domitius Lentiginius, sua criada – levantou-se e curvou-se.
– Eu vi primeiro! – gritou o coxo. – Ela é minha.
– Que nome estranho – falou um dos homens que trazia uma besta nas costas.
– Estranha é essa sua cara de doninha – Raposa respondeu com deboche imitando o focinho do animal.
– Ora sua vaca! – o homem se aproximou e socou Tita que desviou com facilidade e retribuiu o ataque com um chute bem dado na bunda do soldado, que caiu de quatro no chão.
Os homens riram, mas aquele que parecia ser o líder os conteve levantando a mão cerrada.
– Riam depois que dermos uma lição nesses dois. Mas não os matem. Principalmente a garota – Lambeu os beiços.
– Quero ver se essa franguinha é tão corajosa com o meu pau no meio das suas pernas – ironizou o coxo, que esfregava a mão no membro rijo.
– Está pronto para um pouco de ação, meu amigo? – Raposa me perguntou.
Assenti com a cabeça. Eu não queria brigar, mas não era covarde a ponto de deixá-la enfrentar nove soldados armados.
Essa menina é doida? Pensei.
O soldado coxo tentou acertar Raposa com o seu cajado, mas fui mais rápido e sem me levantar chutei com a sola da bota o seu joelho, que estalou. Ele ganiu e caiu segurando o joelho com uma careta estranha no rosto.
– Vocês vão apanhar desses insolentes? – vociferou o Agostino. – Vão apanhar dessa piranha?
E assim começou a matança.
O careca sacou um facão e investiu contra Raposa. A garota se abaixou e a lâmina raspou no seu cabelo. Ela se levantou rapidamente e mordeu o homem no rosto, arrancando o seu nariz.
– Filha da puta – gritou com a mão sobre o buraco. O sangue vertia abundante por entre os dedos dele, deixando o ar com um aroma tentador. – A vaca me mordeu.
Raposa cuspiu o nariz no chão e sorriu.
Como ela fica bonita nervosa. Pensei.
Enquanto isso, o jovem imenso me atacou com uma clava que tinha uns oito palmos de comprimento. Ele era lento e foi fácil me esquivar. Chutei-o nas bolas e ele desabou se contorcendo de dor. Pisei na sua barriga e saltei sobre o garoto que corria na minha direção com a lança. Ele não teve espaço para estocar com a arma, pois abracei-o e mordi seu pescoço. Dei longos goles enquanto ele se mijava de desespero.
Fui interrompido por uma dor aguda nas minhas costas, como uma picada de vespa.
Soltei o moleque que ficou de pé, olhos vidrados, como alguém que se esqueceu de deitar para morrer. O sangue esguichava pelo seu pescoço e o soldado ao seu lado olhava abismado.
– Ele mordeu o Minhoca – gritou. – Ele bebeu o sangue do Minhoca! Demônio! Demônio!
Virei-me e uma dor forte nas costas me fez retesar os músculos.
– Que merda foi essa? – gritei sentindo a dor se irradiar pelos meus ombros.
Raposa tinha acabado de estourar a cabeça de um dos soldados, batendo-a na parede de pedra do templo. Os miolos estavam espalhados por todos os lados. – Não foi nada Alessio – falou com uma calma impressionante. – Você tem uma seta de besta fincada nas costas. Depois a tiramos.
Agostino se aproveitou da distração e rasgou o peito de Raposa com a espada. O sangue esguichou, mas a garota logo se recuperou e socou com força o queixo do homem, que ainda teve tempo para cortar a perna direita dela antes de se desequilibrar e cair.
Raposa pulou sobre o homem caído e arrancou um naco de carne do pescoço do velhote, que morreu logo em seguida, depois de ter espasmos por todo o corpo.
O soldado com o machado de lenhador quase decepou o meu ombro direito, depois que me atacou de cima para baixo com um golpe violento. Desviei-me, caindo de lado enquanto o machado tirava faíscas do chão de pedra. Dei uma rasteira no bastardo, que tombou de costas ao meu lado. Tentei cravar as minhas unhas nas suas costelas, mas a malha de metal impediu a perfuração. Ele me deu um soco certeiro na bochecha e eu senti sangue na boca. Mais um soco bem no meio da testa me deixou um pouco tonto. Contragolpeei com uma cabeçada no seu nariz, deixando o seu rosto empapado de sangue, suor e baba.
Outra seta da besta perfurou a minha coxa direita. Berrei de dor. Arranquei-a com um puxão rápido e senti a minha perna adormecer. Levantei-me com dificuldade e coxeei na direção do besteiro, que já armava a besta para outro disparo.
Mas era uma arma lenta e desengonçada.
Fui mais rápido e quebrei o seu pescoço ao torcer a sua cabeça com raiva. Fiquei segurando seu corpo inerte antes de deixá-lo cair em um baque seco.
Raposa estava sugando o sangue do homem sem nariz quando um dos soldados estocou com a espada. Ela, habilmente virou o corpo do careca que foi perfurado nas costas pelo companheiro. A arma ficou presa, então Raposa teve tempo de cravar as suas unhas no peito do homem, perfurando o coração.
Achei aquilo impressionante, pois ela rasgou o gibão de couro encerado como se fosse uma folha seca.
Maravilhosa. Pensei.
O soldado com o machado, mesmo caído, atirou uma faca que se cravou na minha bunda. Não doeu tanto quanto as setas, mas tirei-a rapidamente, pois não queria que Raposa me visse andando com uma faca enterrada no meu traseiro.
Fui em direção ao soldado, que rastejava desesperado, tentando, em vão, escapar. Finquei a faca no seu estômago e puxei-a para baixo com violência, abrindo um caminho para as suas entranhas tomarem um pouco de ar fresco. Terminei o serviço sugando o sangue grosso e quente até o seu coração parar.
E eu queria mais. O sangue inundou as minhas veias e eu desejava me fartar. Procurei o jovem imenso que eu havia chutado no saco. Ele ainda estava caído e se contorcendo de dor, a cara coberta de lágrimas. Ajoelhei-me ao seu lado, com rosto manchado de vermelho, com a Lua cheia iluminando perfeitamente o céu sem nuvens.
Isso deve ter sido aterrorizante, pois mesmo antes de tocá-lo, ele se cagou todo, empesteando o ambiente. Levantei-o facilmente pelos ombros. Ele chorava como um bebê. A merda escorria pelas suas pernas, gotejando de forma repugnante no chão.
– Pelo amor de Deus, não me mate! – implorou.
Estapeei-o diversas vezes no rosto, deixando vergões vermelhos.
Ele chorava e soluçava.
Soquei-o. Não sei bem o porquê de eu estar com tanto ódio. Talvez estivesse descontando todas as minhas frustrações nesse pobre diabo. Mas agora era tarde para voltar atrás.
– Vá com calma Alessio – disse Raposa com a boca suja de sangue. – Beber de um morto não é nada gostoso.
Dei mais um soco na barriga do infeliz, que se dobrou soltando um chiado agudo. Então cravei meus dentes no seu pescoço grosso e suguei até esgotá-lo quase completamente. Soltei-o no chão, agonizante, trêmulo e limpei a boca nas costas da minha mão.
Raposa sentou-se sobre o cadáver de Agostino e aproveitou para arrancar o torque de prata que ele usava. Pegamos sacos com moedas e algumas poucas joias, pois sempre poderiam ser úteis.
– Pena que as roupas deles também não estão lá essas coisas... – falou Raposa arrancando as suas vestes rasgadas e sujas de sangue.
Fiquei boquiaberto. Tita, sem qualquer pudor, estava nua na minha frente. Os seios pequenos, os bicos intumescidos e os pelos ralos que mal cobriam a sua intimidade.
Ela me olhou com um sorriso instigante.
– Nunca viu uma garota nua? – perguntou.
– A-assim tão bem-feita, nu-nunca – respondi. Lembrei-me de Balbina que sempre fora rechonchuda.
Ela se virou e esticou os braços, mas a sua bunda pequena me seduzia a cada passo lento. Para lá e para cá. Para lá e para cá. Algo parecido com um calor irradiou no meu peito e algo mudou dentro das minhas calças, mas me encolhi, envergonhado.
A Raposa continuava balançando a sua cauda por entre os mortos.
Os seus ferimentos estavam completamente curados e seu corpo parecia brilhar de tão branco à luz do luar. Parecia uma imagem. Uma virgem saída do Paraíso.
Será que ela ainda é virgem? Pensei. Chacoalhei a cabeça logo em seguida. E meu amigo no meio das pernas latejou.
Tita pegou a túnica de um dos mortos e vestiu-se. Era grande, mas ela não se importava.
– Vire-se – falou. – Vou arrancar essa seta.
– Eu nem me lembrava mais dela – falei com as mãos na frente do pinto e meio corcunda.
Ela percebeu e deu um risinho maroto.
– Vou contar até três e arrancar, tudo bem?
– Fazer o quê? – resmunguei.
– Um... Dois! – ela deu um puxão e eu senti as carnes em torno da seta sendo dilaceradas.
– Puta que o pariu – gritei. – Era somente no três! – E toda a minha vontade se esmaeceu por causa da dor.
Ela riu.
Quase que imediatamente o ferimento começou a se fechar. E a dor sumiu, restando apenas uma coceira incômoda.
Então peguei o gibão de couro de um dos defuntos e as suas calças puídas e também abandonei os meus trajes repugnantes. Por sorte, Tita estava de costas olhando para um cão vadio que aparecera e correra para longe logo em seguida. Eu morreria de vergonha de ficar pelado perto dela.
A não ser que ela me pedisse. Pensei.
Ainda fedíamos muito, mas o banho ficaria para outro momento.
– Eu não sabia que você lutava tão bem – falei apertando o cinto.
– Precisei aprender a me virar – respondeu desembaraçando os cachos com os dedos. – Já apanhei muito, mas depois da nossa transformação – piscou – as coisas ficaram muito mais fáceis.
– Você destruiu esses bostas – olhei para os corpos espalhados.
– Foi uma briga boa – falou Raposa. – Se o velho Marte ainda estiver por essas bandas, ele deve estar contente. A matança foi digna das lutas entre os gladiadores no Coliseu.
– Gladiadores?
– Sim! – respondeu efusivamente. – Escravos e homens livres que lutavam para alegrar aos imperadores e à plateia.
– Você nasceu em tempos de sangue, hein? – falei.
– Bons tempos, isso sim – falou Raposa. – Mas não pense que as coisas mudaram muito. Não! Veja: os homens ainda gostam demais da violência, das batalhas e das brigas. E esses defuntos no chão são testemunhas do que eu digo.
– Nem sei ao certo como essa briga começou – respondi. – Acho que daria para ter resolvido o que é que seja com um pouco de conversa.
– Soldados irritados não conversam, Alessio – falou pegando um cinto em um dos mortos para apertar a túnica, que mais parecia um saco. – Eles matam e estupram – seu semblante se fechou. – O importante é que nos divertimos e nos fartamos.
– Não foi legal ter sido alvejado pelas setas...
– Podia ter sido pior – disse a garota. – Se você tomasse uma dessas bem no meio da testa, talvez morresse, pois o seu corpo ainda não é forte o suficiente.
– Já pensou? – indignei-me. – A tal da minha imortalidade teria durado apenas uns meses.
– Seria hilário.
– Seria ridículo – retruquei.
Um dos soldados agonizantes morreu e o outro gemia de dor com o joelho quebrado.
– O que a gente faz com ele? – perguntei.
– Ora, beba o sangue desse infeliz
– Eu estou empanzinado.
– Bom, acho que cabe um pouco mais aqui – Raposa falou dando tapas na barriga magra.
Então, sem qualquer conversa ela se debruçou sobre o soldado coxo como um cão sobre a carniça e bebeu dele. O homem se debateu, puxou Tita pelos cabelos, mas morreu depressa.
– Pronto – falou Raposa ao tomar fôlego. – Esse agora só vai ter xoxotas no outro mundo – divertiu-se.
– Acho que ficarei sem beber por uma semana – falei.
– Que nada – agachou. – Amanhã você vai acordar com a mesma sede de sempre, como se tivesse areia na sua garganta.
– Você acorda assim todas as noites?
– Bom, acordava, mas de uns séculos para cá, a sede diminuiu bastante – disse. – Hoje eu consigo ficar bem mesmo sem beber por meses, anos quem sabe?
– Nossa...
– É que eu gosto de beber, entende? – deu uma piscadela. – Então, por que enjaular os prazeres da vida?
– Entendi... – falei. – Ainda não consigo imaginar como você é tão velha.
– Pare de pensar nisso. Vai acontecer com você também. E nem vai parecer que a sua jornada é tão longa. Acho que o tempo fica diferente.
Assenti com a cabeça.
– Venha – Raposa me chamou. – Vamos empilhar esses corpos e fazer uma bela fogueira.
Um a um, amontoamos os mortos. Tita buscou gravetos e galhos secos no bosque e fez fogo raspando uma faca em uma pedra. Logo as chamas estavam fortes e o cheiro de carne queimada impregnou o ar.
Sentamos e ficamos observando o fogo consumir os corpos e as roupas.
– Que a alma deles tenha paz – falei.
– E que eles encontrem o caminho até os seus antepassados – respondeu Raposa.
Pensei no meu pai e em Balbina.
Consegui ver os seus rostos com perfeição.
E senti saudades.
Mas eu sabia que ainda demoraria a revê-los.
Muito tempo.
Uma eternidade, aliás...
– Obrigado irmão – falou Ugo segurando o novo hábito. – Vou escovar o meu cavalo depois já entrego o meu velho hábito para ser lavado.
A sua veste estava cheia de pulgas e carrapatos, deixando o corpo do monge salpicado de marquinhas vermelhas. Seria um alívio ter roupas novas. Talvez, até tomasse um banho.
Estava no pequeno mosteiro há umas duas semanas. Tinha melhorado da pedrada, mas logo em seguida começou a sofrer de diarreia e fortes dores abdominais. Então, novamente ficou acamado, com as tripas dando nós e tendo calafrios pelo corpo. Não tinha forças sequer para se levantar, precisando ser praticamente carregado pelos monges quando era tomado pelos violentos desarranjos. Pensou que morreria.
Nunca tivera um mal como esse, nem depois de beber de poças lodosas por causa do desespero da sede depois de longas batalhas.
Se já era magro, o monge ficou tal como uma caveira, com os ossos salientes por debaixo da pele amarelenta. Durante a sua recuperação, os monges o alimentaram com caldos de carne e canjas de galinha engrossadas com farinha. E somente há três dias ele recuperou um pouco do vigor.
– O cavalo está melhor do que eu – falou para o irmão Murilo, responsável por cuidar dos animais.
– Verdade, irmão – respondeu retirando o esterco e colocando em um balde. – Nunca havia visto um garanhão como esse.
Ugo deu um sorriso rápido, pegou uma escova e começou a cuidar do cavalo. Os pelos castanhos brilhavam sob o Sol do fim da tarde.
Então, sentiu vontade de cavalgar, de ter o vento batendo no seu rosto. Selou o seu cavalo berbere e montou-o devagar.
– Frei Ugo – chamou Murilo. – O irmão acha prudente sair a cavalo?
– Não se preocupe – respondeu já se afastando. – Darei apenas um passeio curto.
– Cuidado então – respondeu Murilo acenando e retornando aos seus afazeres.
O cavalo desceu pelo caminho de pedras devagar e ao chegar à estrada de terra, Ugo forçou um trote.
– Assim está bom – disse batendo no pescoço musculoso do animal. – Mais do que isso eu ainda não aguento.
A sua bunda ainda ardia por causa dos fortes desarranjos intestinais dos últimos dias.
Trotaram pela estrada. Ugo entretido com seus pensamentos, misturados com orações, permeados por lembranças de noites com prostitutas. Sentiu uma ereção e sorriu.
Lembrou-se também das guerras e do bafo do inimigo instantes antes de morrer. A sensação do metal perfurando a malha e depois a carne até parar em algum osso. Os olhos esbugalhados e o sangue escorrendo pelo canto da boca. Involuntariamente fez com a mão o movimento de torção e puxou uma espada invisível. Sorriu novamente.
Mas isso era passado. E ele já tinha pagado as suas penitências para apagar esses pecados. Entretanto, o seu talento não fora completamente desperdiçado. Os homens da igreja sabiam que tinham encontrado uma pedra preciosa, que lapidaram com espero e pancadas precisas. Forjaram Ugo por meio do medo e da dor. E só aguçaram ainda mais os seus instintos, pois a cruz, tal qual a espada, pode oprimir muito bem.
Lutava, agora, as batalhas de Deus. Salvara muitas almas e só se arrependia de ter perdido uma, naquele calabouço. Isso não se repetiria. Estava mais experiente. Aprendera, estudara e se purificara diariamente.
Tinha evoluído em conhecimento e fama, apesar de não gostar dela. Agora era Ugo, o Carnefice.
Seguiu em frente por muitas léguas. E quando voltou à realidade, percebeu que já estava quase escuro. Adiante, as luzes de um vilarejo qualquer e o cheiro do jantar dos aldeões sendo trazidos pela brisa.
– Nossa – falou virando o cavalo. – Andamos demais, meu amigo. Agora é preciso voltar.
Entretanto, Ugo sentiu uma fisgada na base das suas costas.
– Senhor! – disse ao desmontar. – Essas minhas enfermidades acabaram comigo.
Amarrou o cavalo em uma árvore e caminhou um pouco para esticar os músculos.
– Esta noite vai ser fria, mas por sorte não choverá.
Ugo esticou os braços para cima e uma nova fisgada, dessa vez mais dolorida o obrigou a se recostar em um tronco inclinado.
Enquanto isso seu cavalo pastava, alheio a tudo, umas gramíneas bem verdinhas.
– Ei Alessio – chamou Raposa. – Acorde!
Abri os olhos ainda zonzo de sono e vi a garota correndo para fora da cripta em que estávamos. Bocejei e meio a contragosto segui-a pela escadaria, pisando pesado em cada degrau.
– Você não sabe quem está aqui pertinho...
– Lino? Lucio? – perguntei com os olhos semicerrados.
– Não – balançou a cabeça, mãos cruzadas à frente do corpo.
– Fale logo Tita – irritei-me. – Você deve ter um bom motivo para ter me acordado.
– Nossa. Que desespero – divertiu-se. – Bem, chega de joguetes. Acabei de ver o tal monge.
– Ugo?
– Quem mais?
– Tem certeza que era ele? – perguntei. – É o mesmo filho da puta que o monge velho nos mostrou quando fomos à pequena igreja?
– Sim – respondeu. – Eu não esqueceria aquele focinho feio por nada.
Algo dentro de mim se inflamou e a letargia do despertar sumiu completamente.
– E onde ele está?
Raposa apontou a direção.
– Atravesse o bosque, ande umas duas léguas e o encontrará por lá. Isso é, se ele já não foi embora.
– Vamos depressa – falei correndo.
– Eu ficarei dessa vez... – disse Raposa. – Mas estarei aqui quando voltar.
Não argumentei. Eu estava com pressa. Então corri como nunca correra antes, trombando em galhos, rasgando a pele do rosto e dos braços em espinheiros, tropeçando em raízes altas. Em pouco tempo já estava na estrada, avançando como um louco na direção apontada por Raposa.
E logo vi o maldito, puxando o seu cavalo vagarosamente.
Não fui sutil ou fiz uma aparição de surpresa, continuei correndo e parei somente quando estava a poucos passos dele. Seu cavalo se assustou e empinou, quase arrastando o monge, que o segurava pelas rédeas.
– Seu louco – vociferou.
– Louco? Louco? – gritei. – Loucura é o que você fez com a minha mulher e o meu filho.
O cavalo relinchou e, dessa vez, correu para longe sem que Ugo pudesse fazer nada.
– Não sei do que você está falando – irritou-se ao ver o seu cavalo se distanciar em uma carreira alucinada. – Quem é você?
– Não sabe? – rosnei – Como você caça alguém que não conhece?
– Alessio... – disse com espanto no rosto. – Alessio di Ettore?
– Eu mesmo! – aproximei-me com os punhos cerrados.
Ugo, desesperado, sacou a sua adaga e, em um comportamento nada digno de um homem de Deus, atacou-me. Não desviei e ele cravou-a no meu peito, do lado direito. A dor foi lancinante, mas permaneci imóvel. Ele puxou a adaga e estocou três vezes contra a minha barriga. Senti os golpes precisos, violentos e tombei para trás. A visão turvou-se e o mundo pareceu ficar mais silencioso.
Ele sabia como atacar. Tinha agilidade e instintos, mesmo ainda estando debilitado. Passou boa parte da sua vida fazendo isso. Tinha sido um bom soldado. E mesmo na igreja tinha aperfeiçoado as suas habilidades. Agora era um carrasco esplêndido.
O monge estava ofegante, assustado, mas ao me ver sangrando e caído se recompôs, mudando o seu semblante para algo como um escárnio odioso.
Reassumiu a sua postura altiva.
– O abade Nicola me disse que você era um demônio, uma cria de Satanás – falou ajeitando os cabelos negros. – Eu mesmo já conheci algo que não era desse mundo, um ser sujo vindo do abismo. Mas você... Eu só vejo um homem que está prestes a morrer. Um homem que sangra como qualquer outro. Um porco com uma fama muito maior que a realidade – inspirou profundamente. – Mas, enfim, não importa o que você é, dar-lhe-ei o benefício da confissão, pois, pelo que vejo, seu tempo se esvai depressa. É tempo de se arrepender dos seus pecados...
A minha barriga doía e o sangue escuro escorria pelo ferimento aberto. Ele já começara a cicatrizar, mas ainda demoraria bastante para ter a cura total. A minha visão estava menos embaralhada, mas uma sonolência estranha deixou meus olhos pesados. Se eu fosse o velho Alessio de antes do acontecido, já estaria morto. Com o primeiro golpe, aliás.
– O único demônio aqui é você, frei Ugo – cuspi sangue. – Alguém que aterroriza uma mulher indefesa até o seu coração explodir no peito e ataca um garotinho não é digno de vestir um hábito.
Tentei me sentar, mas uma fisgada forte me impediu. Gemi alto. Nunca sentira uma dor assim. E a cada inspiração o meu peito chiava de maneira estranha.
Ugo riu. Gargalhou. E apontou a adaga suja para mim.
– E o Diabo fala pela boca do pecador – zombou. – Não tente entender os métodos sagrados, você não é digno – enfatizou a última palavra. – A sua mulher era uma mentirosa, uma caluniadora. Não queria que ela morresse, mas Deus quis. E o seu filho, o menino Lino, teve apenas uma lição. Mas pelo visto ele não aprendeu nada. Cuidarei dele depois.
Frei Ugo se afastou. Voltou logo com gravetos e mato seco. Acendeu uma fogueira a um passo de mim. Trouxe mais lenha e contentou-se quando as chamas estavam fortes.
Ao contrário do que imaginei, meus ferimentos estavam se curando muito devagar e eu sentia o meu corpo fraco e a cabeça anuviada. O sangue ainda escorria frio e espesso como mel. E a cada movimento, por menor que fosse, a dor era imensa, de fazer cerrar as mandíbulas e trincar os dentes.
Mas eu não gritaria. Não choraria. Não daria esse gosto ao maldito.
Ugo, com uma calma irritante, foi até o meio da estrada e assoviou. Esperou uns instantes e assoviou novamente. Então o som de cascos, passos lentos, hesitantes. Mais um assovio, dessa vez longo e trinado, e o belo garanhão apareceu. O monge sorriu.
– Bom, bom – disse dando tapinhas no pescoço musculoso. – Sabia que podia confiar em você.
Ele foi até a sela e, em um saco de couro amarrado a ela, pegou algo parecido com uma vara curta com um cabo de madeira e um círculo na ponta. Não consegui ver direito o que era, pois a minha vista ainda estava um pouco embaçada.
Ugo se ajoelhou ao meu lado. A noite estava escura, com um céu encoberto e sem estrelas e, se não fosse a claridade da fogueira ele certamente teria dificuldades em me ver direito.
Eu o vi com perfeição desde o começo e achei o seu rosto fino detestável.
Sem dizer nada, ele colocou a vara de metal com uma cruz dentro de um círculo na extremidade no fogo. Parecia um ferrete usado para marcar o gado. E eu sabia o que ele pretendia.
Cura logo, bosta! Pensei.
Ugo retirou uma cruz de dentro do hábito e começou uma ladainha na língua dos padres, que naquela época eu não entendia.
– Você se arrepende dos seus pecados e renega ao demônio? – perguntou após o falatório.
– Sim, frei Ugo, eu me arrependo de muitos dos meus pecados – falei com sinceridade. – Mas nunca tive qualquer coisa com o demônio. Não escolhi virar isso.
Ele me esbofeteou no rosto muitas vezes.
– Você nega ter qualquer relação com Satanás? – inquiriu-me balançando a mão como se ela estivesse dolorida.
– Sim – respondi com firmeza. – Nunca tive qualquer negócio com o Diabo. E nem quero! – fiz o sinal da cruz.
Ele me olhou com um misto de espanto e indignação.
– Como você profana a cruz? – bateu com o cabo da adaga na minha testa.
Doeu. Entretanto eu ainda estava fraco para conseguir reagir. O sangramento na minha barriga já tinha praticamente se estancado, mas o ferimento ainda estava aberto, curando-se lentamente. Talvez demorasse, pois eu não havia bebido nada desde a noite anterior.
– Eu sou um servo fiel de Deus – respondi com convicção. – E como já falei nunca procurei nada disso que aconteceu comigo. Por mim, eu continuava com a minha vidinha de sempre. Eu gostava dela! Mas se Deus quis assim...
– Insolente – gritou Ugo. – Quantas blasfêmias saem da sua boca. Agora vejo claramente que o demônio fala por você. Mas ele não pode vencer Jesus e os Santos.
Respirou fundo e retirou o ferrete quase incandescente do fogo. E sem hesitar colocou-o na minha testa, fazendo a carne chiar.
Gritei, berrei e segurei na haste tentando afastar o maligno objeto, apenas queimei as mãos. Os olhos de Ugo pareciam brilhar e, enquanto ele forçava o ferrete contra a minha testa fazia uma careta estranha.
Frei Ugo afastou o metal da minha pele e colocou-o novamente no fogo. A dor insuportável quase me fez desmaiar, mas resisti. Não daria essa alegria ao filho da puta. Meu corpo inteiro tremia.
Ele se virou, foi até o seu cavalo e pegou um obre no saco de couro. Caminhou sem pressa até mim. Agachou-se e verteu o líquido na minha boca. Água.
Engasguei, senti o gosto ruim e cuspi.
– O seu sofrimento pode acabar, filho – falou com a voz mansa. – Aceite a sua culpa e renegue ao demônio.
– Tenho culpa de ter sido mordido? – rosnei. – Tenho culpa de ter virado isso? Eu pedi a proteção de Deus e dos santos, mas...
Ele, em um acesso de fúria, pegou-me pelos cabelos e bateu a minha cabeça três vezes no chão. Se, antes eu estava tonto, naquele momento tudo ficou escuro. Via somente vultos e o clarão do fogo.
Merda, eu vou morrer.
.
.
.
Acordei com o maldito jogando água na minha cara. Devo ter apagado por alguns instantes.
Havia tambores na minha cabeça e meus ouvidos apitavam. Precisei ficar de olhos fechados. Tudo ainda rodava.
A voz de Ugo ecoava e eu não entendia nada que ele falava. Era como se eu estivesse nas brumas de um sonho.
E pela segunda vez senti o ferro tocar a minha testa. Despertei de vez, berrando, chorando, retesando todos os músculos do meu corpo por causa da dor indescritível. Acho que dessa vez o ferrete tinha marcado até o osso.
Arranquei pedaços de terra dura com as unhas e tive uns espasmos estranhos.
Ugo apenas me observava em silêncio, como se estudasse cada uma das minhas reações.
A minha pele estava se repuxando e coçando, sinal que os ferimentos feitos pela adaga se curavam. Mas eu não sabia quanto tempo tinha. Não sei se aguentaria outra tortura com o ferro em brasa sem desmaiar. Minha testa ardia muito, como se eu estivesse com a cara em labaredas.
– Alessio, se o mal recai sobre nós a culpa é nossa – falou ao se levantar. – Você deve ter fraquejado em algum momento.
Pensei em retrucar, mas fiquei em dúvida. Será que eu atraí essa merda para mim? Pensei.
O cavalo relinchou e frei Ugo falou mais algumas coisas naquela língua estranha, olhando para o céu com as veias do pescoço saltadas pelo esforço.
Pegou a sua adaga e levantou-a. Preparei-me para outro golpe. Talvez, morresse agora. Talvez tudo acabasse com uma perfuração certeira no meu coração. E, quem sabe, eu teria um pouco de paz.
Todavia, Ugo, o Carnefice, não estava satisfeito. Rasgou a minha camisa, deixando o meu torso nu.
Olhou boquiaberto para a minha barriga. Mesmo na noite escura pode ver que os meus ferimentos não passavam, agora, de pequenos furos, sem quaisquer sangramentos. Esfregou os olhos e piscou lentamente. Passou a mão quente e trêmula sobre a minha pele. Pegou o odre com água e tentou limpar o sangue quase seco.
– O sinal do demônio – disse trêmulo. – O demônio profanou a carne. O corpo não pode morrer. Você deveria estar se esvaindo em sangue!
Ele pegou a adaga e passou a ponta acima do meu umbigo, fazendo um pequeno corte. Observou de perto. E, quando ele começou a cicatrizar, soltou um gritinho agudo.
– Você não é um homem – colocou a mão na boca. – Você é o demônio!
Ver o seu desespero me deu ânimo e me fez me sentir melhor, apesar de não estar plenamente curado. Então sem que Ugo esperasse, peguei na sua garganta, sentando-me rapidamente. Ele tentou me esfaquear, mas cravei as unhas no seu pulso e ele largou a adaga.
– Solte-me, eu lhe ordeno – falou com a voz quase como um sussurro.
– Você não está em condições de dar ordens, seu bosta – rosnei.
– O poder de Deus é muito maior que os seus sortilégios, demônio – cuspiu na minha cara.
– Sei disso e concordo do fundo da minha alma – falei sem qualquer tipo de zombaria, a saliva escorrendo pela minha bochecha. – E acho que Deus deve estar de costas viradas para nós nesse instante.
Levantei-me ainda apertando a sua garganta e com as unhas rasgando o seu pulso magro.
Frei Ugo começou a se debater e a soltar grunhidos, não sei se pela dor, por estar imobilizado ou pela incredulidade de eu acreditar em Deus. Ele me deu joelhadas, pisou no meu pé e eu apenas controlei a dor. Então, como um peixe fisgado que já lutara por muito tempo, ele desistiu.
– Você nunca vai ter a minha alma, demônio – falou exausto.
– Depois de levar uma senhora indefesa à morte e torturar um menino, e sabe-se lá quantas outras atrocidades você cometeu, acho que Satanás já tem a sua alma – falei imaginando quão horríveis devem ser os sofrimentos no fogo do inferno. A minha testa latejou.
– Eu salvo almas – rosnou. – Meu ofício é sagrado. Não sou um profanador de corpos como você, cria do demônio. Eu sou um homem santo!
Ugo, o Carnefice, era um verme. Dizia-se tão justo, mas praguejava como qualquer ladrãozinho ao ser pego. Tentava me desvalorizar para se defender.
– Você tem tanta certeza do seu lugar no Paraíso, monge? – falei ao apertar o seu pescoço com mais força.
– Absolutamente – empertigou-se resfolegando. – Mesmo que você me mate agora, eu não me importo, estou tranquilo. Seus olhos reviraram, ele iria desmaiar.
Soltei a sua garganta e o seu pulso. Ele dobrou-se e arfou, recuperando o ar. Dei as costas e comecei a me afastar. Eu tinha certeza que o mataria quando o encontrei, entretanto, agora, a raiva já se amainou um pouco. Ugo não passava de um verme e não sei o porquê tive pena dele.
– Pode fugir demônio – falou com a voz rouca. – Mas você nunca vai escapar da ira de Deus. Nem você, nem o seu filho insolente.
Aquilo nunca iria parar.
Virei-me e avancei na sua direção como um touro enfurecido. Ele tentou se abaixar para pegar o ferrete, mas levantei-o pelos cabelos ensebados e mordi a sua garganta. Ele gorgolejou e gemeu. Por um instante, pareceu que Ugo sentia prazer ao invés de dor.
Bebi e quando senti seu corpo amolecer, parei. Coloquei-o, sem qualquer cuidado, sentado no chão, recostado em uma pedra.
Ele estava cabisbaixo, no limiar entre a vida e a morte. Então talhei o meu pulso com uma mordida rápida. Levantei a sua cabeça pendente e coloquei o pulso na sua boca entreaberta. Ele tentou relutar, mas logo o sangue desceu pela sua goela fazendo-o engasgar. Ugo tentou me empurrar, mas continuei com firmeza.
Soltei-o e ele cuspiu, arfou e xingou-me enlouquecido.
O que você fez? – falou com lágrimas nos olhos. – O que você fez, demônio?
– Agora, você é o que eu sou... – lambi o sangue do meu pulso e dessa vez o ferimento fechou com muito mais rapidez.
Ele ficou paralisado por um tempo, abismado, abobalhado. Colocou o dedo na garganta, mas não conseguiu vomitar. Gritou, debateu-se e chorou como um bebê. Deitou-se segurando os joelhos contra o peito, choramingando, falando coisas ininteligíveis. Exausto, adormeceu ou desmaiou talvez.
E eu, pacientemente, esperei.
E, quando o azul-escuro do céu deixou de ser tão denso, ele despertou com um sobressalto, com o olhar perdido. Vomitou, expeliu tudo o que estava em suas entranhas, contorceu-se de dor de uma forma muito mais intensa do que eu, quando fui transformado.
Ugo me viu e tentou fugir pela estrada deserta. Caiu de joelhos depois de 10 passos, vomitando golfadas amareladas. Aproximei-me lentamente.
– O que você fez comigo? – seu corpo tinha espasmos violentos enquanto ele tentava fugir engatinhando.
– Você é o que eu sou... – falei sem qualquer emoção.
– Nã-ão – ele balbuciou.
Rasguei o seu hábito, deixando-o nu. Do tecido puído, fiz duas tiras grossas.
Levantei Ugo, o Carnefice, que estava fraco demais para lutar. Senti seu corpo quente, apesar do suor que escorria profusamente.
Encostei-o em um olmo ainda jovem, peguei uma das tiras de pano e amarrei o seu braço direito em um galho.
– O que você vai fazer? – sua fala mais parecia uma súplica.
Sem dar qualquer resposta, amarrei o seu outro braço em um galho oposto. A árvore envergava um pouco a cada sacolejo do monge, mas não se partiria. Era uma boa madeira.
Afastei-me e vi a imagem de um Jesus crucificado bem à minha frente. Esse seria o meu maior pecado, mas não me importava. Com sorte, teria muito tempo para me redimir.
Ugo vomitou mais uma vez e defecou nas próprias pernas.
Dei um tapa nas ancas do seu cavalo e ele correu para longe. Peguei o ferrete e atirei-o no meio da mata. A adaga, a maldita adaga, cravei-a em sua mão. Ele gritou e revirou os olhos, babando, tremendo.
– Essa foi pelo meu filho.
Mas o monge já não tinha mais o pleno controle da sua cabeça.
– Eu tenho sede – gritou entregando-se à um estado de loucura. Sua boca espumava uma espuma rosada.
Olhei-o pela última vez antes de partir. Senti pena, mas o que estava feito, estava feito.
– Assim que eu me soltar, Alessio di Ettore, vou te matar – gritou. – E vou arrancar as tripas do seu bastardo e jogá-las aos porcos. Alessio! Alessio! Eu tenho sede!
O céu clareava rapidamente e a minha pele começou a se esquentar daquela maneira incômoda. Então corri para o templo de Marte, mas, assim mesmo senti a minha nuca e orelhas se chamuscarem antes de eu conseguir o abrigo das sombras. Raposa me esperava com a pesada pedra erguida, que foi baixada em um baque seco quando nós dois nos refugiamos em nosso covil.
.
.
.
– Veja irmão José. O que é aquilo? – os dois padres apressaram os seus burricos.
– Tem fumaça ali – respondeu.
– Meu santo Deus! – pegou a sua cruz de madeira que trazia em um cordão no pescoço. – Que fedor.
– Parece... Parece uma pessoa – disse José desmontando. – É uma pessoa. Cristo, tende piedade!
O corpo estava totalmente carbonizado, mas ainda se mantinha preso à arvore, de braços abertos, com uma adaga cravada em uma das mãos.
– Quem faria uma atrocidade dessas, Mateus? – perguntou José.
– Não importa... Vamos tirar esse pobre daí e dar a ele um enterro cristão.
– Santo Deus...
Quando o padre tocou no corpo incinerado, ele se desfez em um pó preto que foi levado pelo vento em um redemoinho pequeno, dissipando-se logo em seguida.
No mesmo instante, os dois padres se benzeram e seguiram o seu caminho em silêncio, cada um tentando tirar as suas próprias conclusões.
– Tempos estranhos, Mateus – disse José. – Tempos muito estranhos...
Capítulo XIV – Roma
É engraçado como nunca estamos satisfeitos. Parece que o nosso espírito não se contenta com as decisões tomadas. É como se quiséssemos ter todas as alternativas ao mesmo tempo, pois ao deixar de escolher uma, sempre há uma perda.
Viver é uma indecisão. E, muitas vezes, arrependimento por decisões tomadas ou desconsideradas.
Depois que selei o destino do frei Ugo não tive paz, tampouco a sensação de vingança ou de realização que imaginei. Na noite do ocorrido, eu apenas dormi, exausto, com a testa em brasa que, aliás, demorou dias para sarar por completo, um sono negro e sem sonhos. Entretanto, nos dias posteriores, a dúvida sobre a minha decisão era constante. E o pior, um pensamento martelava na minha cabeça: Será que a vingança não me tornara pior que o maldito Carnefice?
Será que eu ainda sou digno de Deus?
Na verdade, eu tinha agido como um deus quando fiz o que fiz.
Raposa, com a experiência eloquente de uma jovem com séculos de idade, apoiou a minha decisão.
– Alessio, aquele imbecil procurou a própria morte – disse-me em uma noite após bebermos de um casal de gêmeos. – Se ele realmente tivesse fé, buscaria outro caminho. Lembre-se de que a religião construiu e destruiu esse mundo. E os sacerdotes têm o poder para plantar a bondade e o caos, entende? E ele teve sorte. Sofreria muito mais se você tivesse uns bons pregos naquele momento – deu um meio sorriso.
Assenti com a cabeça.
Aquelas palavras aplacaram um pouco da minha angústia, mas me fizeram pensar: será que eu ainda tenho fé, ou apenas minto para mim mesmo? E com essa minha nova vida é possível ter fé? E o pior, em que ter fé?
Por diversas vezes peguei-me pensando nos deuses esquecidos dos romanos, com suas estátuas destruídas e templos em ruínas. Se eles realmente existiram ou ainda existem, deve ser triste demais verem a sua glória se esfarelar com o tempo.
E se com o nosso Deus estiver acontecendo o mesmo? As pessoas falam muito Nele, porém, poucos seguem os seus ensinamentos, mesmo dentro das igrejas e mosteiros. E a maioria não está nas missas de domingo por amor ou devoção, mas sim por medo ou para pedir algo. Uma vez, em um sermão, o abade Nicola nos contou sobre duas cidades que foram queimadas porque as pessoas pecavam demais. E se acontecer o mesmo por aqui?
Será que Deus se arrependeu daquilo? Será que ele ainda se preocupa conosco? Será que Deus ainda está por aqui?
Acho que nunca saberemos as respostas para essas perguntas, pois Deus escolheu permanecer em silêncio. Pelo menos até agora.
Silêncio...
Solidão...
Vazio...
Novamente, pego-me pensando no divino, em um deus Alessio. Estapeio o meu rosto com força, mas essas ideias estão arraigadas na minha cabeça.
Deus único, deuses esquecidos, Alessio deus...
.
.
.
Tempos depois do fatídico encontro com o Carnefice, despedi-me da minha querida Tita e parti sem rumo. Na verdade, algo dentro da minha mente me impelia à Roma, mas meus pés sempre me levavam para outros lugares. Então, por quase vinte anos sobrevivi perambulando como uma assombração pelos quatro cantos da Itália.
Vi, sempre oculto, meu filho se tornar um homem, casar-se com uma boa moça e me dar três netos saudáveis. A menininha mais nova se chama Balbina. Vi-os prosperar junto com Lucio, que se tornara algo como um mercador e vendia a produção de queijo de cabra e de mel para várias igrejas e mosteiros da região.
O esconderijo da turma na floresta virou uma próspera fazenda depois que Lucio conseguiu permissão para arrendar as terras que pertenciam ao bispo Horacio, um homem tão redondo quanto meu amigo, agora com todos os poucos cabelos que lhe restaram branquinhos.
Tonina, esposa do tal Pança, ou melhor, senhor Pedro, um respeitado armeiro, ajudava a administrar a fazenda com uma sabedoria incrível e com pulso firme. Era uma mulher sabida e justa, pelo que pude perceber e ouvir dos trabalhadores.
Dos demais garotos da turma, tenho pouco conhecimento. Mario virou um mercenário e vive em Turin. O pequeno Tullio, que continua baixinho, viaja com uma trupe de artistas e o Ruggero morreu há uns anos de Fogo de Santo Antônio, depois de ficar dias em delírio, com febre e dores intensas. Era um rapaz de valor que montou todas as caixas de abelhas para Lino.
Eu estava feliz pela prosperidade do meu garoto e dos demais. E essas duas décadas passaram em um piscar de olhos, tantas experiências, tanto tempo, mas para mim tudo parece ontem. Talvez, um dia, eu pare de contar o tempo, pois como Raposa me disse, quando se vive eternamente, ele não é tão relevante como costumava ser.
Assim, depois dessas idas e vindas, finalmente segui para o lugar que as pessoas chamam de Cidade Eterna, de ruas pavimentadas e imponentes construções de pedra. Já estive em outras cidades grandes, mas nada se compara a Roma, com suas alamedas apinhadas mesmo quando anoitece. Há gentes de todos os tipos e várias cores. E de cheiros tão diversos! O mundo deve ser mesmo bem grande.
Cheguei debaixo de um temporal. E para piorar as pessoas estavam tensas, pois um terremoto destruiu algumas casas e uma praga fazia as plantações murcharem como se estivessem queimadas.
Como esse mundo pode ser tão destrutivo. Pensei.
Na época eu já não parecia tanto com um mendigo. Tinha roupas boas, algumas joias e até mesmo um cavalo, herança de um filho de um conde que me alimentou há uns meses.
– Saia do caminho, seu imundo – empurrou-me com brutalidade enquanto entrava na igreja São Sírio em Gênova.
O mancebo foi recebido de braços abertos pelo bispo, que sorria exageradamente. E eu fui escorraçado por dois capangas que fecharam a porta de madeira maciça na minha cara. Contentei-me em rezar do lado de fora mesmo e segui o meu caminho para a distante Roma.
Por algumas vezes estive à beira da Cidade Eterna, mas por forças maiores resolvi, nos últimos instantes, não entrar. É estranho estar tão próximo do nosso objetivo e as nossas pernas serem impelidas para outros lugares. A vida não é mesmo linear.
.
.
.
Na estrada, da largura de dois carros de boi, pela segunda vez, fui enxotado pelo frangote.
– Saia da minha frente, seu palerma – gritou vindo em carreata com seus dois capangas.
– Vá se foder! – xinguei assim que ele passou.
Ele apeou o cavalo e virou-se ao meu encontro.
– Você sabe a quem está xingando, imundo? – gritou. – Sou filho do conde Ambrusso.
– Foda-se mesmo assim. Para mim, você não passa de um bosta de leitão.
Os homens investiram na minha direção, com espadas em punho. Desviei do primeiro cavalo com facilidade, pulando para o lado, e já aproveitei para dar um puxão forte no cinto do segundo homem, fazendo-o cair da sua montaria. Chutei-o no rosto com violência demais e matei-o. Senti o meu dedão latejar ao destroçar a sua mandíbula. Não pretendia que isso acontecesse, mas...
O outro guarda-costas voltou em uma carga alucinada. Peguei a espada do morto e defendi-me do golpe. O filho do conde apenas observava sem mexer um músculo sequer. Por mais uma vez fui atacado, mas desviei no último instante e consegui fazer um talho na perna do desgraçado. Senti a lâmina raspar no osso e o sangue espirrou imediatamente. Então, apesar de já ter me alimentado, a sede despertou dentro de mim.
Larguei a espada e corri atrás do homem que gania desesperadamente, segurando o grande corte com as mãos enluvadas. Quando me viu, tentou brandir a espada, mas eu já estava saltando sobre a anca do cavalo e cravando os dentes no seu pescoço suarento. Caímos enovelados e ele morreu rapidamente.
Quando me levantei, vi o frangote com os olhos esbugalhados e sem hesitar, investi contra ele. Seu cavalo empinou e quase fui golpeado pelos cascos imensos. Ele conseguiu cortar o meu ombro com a sua espada, mas o golpe foi fraco e não passou de um arranhão.
Puxei-o pela capa e ele desabou no chão, batendo o rosto sem barba na pedra. Ele chorou e quando se levantou vi seu nariz e alguns dentes quebrados.
– Filho da puta – berrou fanhoso. – Você destruiu o meu rosto.
– Aja como um homem – chutei-o fazendo-o desabar de joelhos.
– Não me mate – as lágrimas se misturavam ao sangue. – Eu tenho dinheiro, tenho joias.
– Peça desculpas – gritei.
– Pelo quê?
– Por ter me empurrado na igreja e ter me chamado de imundo.
– Desculpe-me – sua voz saiu tal qual a de uma garotinha.
– Melhor assim – falei ao avançar sobre ele e drenar o restante do seu sangue.
Escondi os corpos no mato. Os bichos da floresta fariam o restante do trabalho. Essa noite se fartariam com boas carnes. Peguei armas, joias e vesti-me com as boas roupas do frangote, que ficaram um pouco apertadas. Vendi os cavalos para um mercador que encontrei na noite seguinte. Ele desconfiou no começo, mas aceitou a barganha. O dinheiro sempre fala mais alto.
Sempre.
E assim cheguei a Roma, trajado como um nobre, debaixo de um aguaceiro e com as pessoas desnorteadas por causa dos tremores de terra e da praga nas plantações.
Passei algumas noites rotineiras na cidade, dormindo sob o abrigo de templos antigos ou mesmo nas criptas de algumas igrejas. Bebia quando a sede apertava, cavalgava quando tinha vontade, brigava depois de rodadas de jogos de dados só para passar o tempo. Mas quando a neve começou a cair em meados de dezembro, senti uma presença estranha. Calafrios percorriam a minha espinha e, a todos os instantes, tinha impressão de estar sendo seguido e observado. Mas, ao olhar ao redor, nunca via ninguém. E era essa ausência que me irritava.
Isso durou por duas noites. Na terceira, eu o chamei. E ele veio.
– Seja homem e apareça – falei prostrado entre as imensas colunas do templo de Saturno. – Chega de se esconder.
– Aqui estou! – uma voz grave com um sotaque esquisito ressoou bem atrás de mim.
Eu me virei e vi o homem que me mordeu na fatídica noite. O mesmo homem magro, alto e com os cabelos compridos e da cor do ouro. Ele me fitava encoberto pelas sombras.
Encarei-o e medi-o dos pés à cabeça. E tive a certeza: se ele quisesse briga, eu estava fodido. Mesmo depois da minha transformação, eu ainda era o velho Alessio cagão, como meus amigos me chamavam.
O homem se levantou e caminhou lentamente na minha direção.
Fiquei ressabiado e na defensiva, mas não vi maldade nos seus olhos cinzentos, aliás, seu rosto parecia feito de pedra, sem qualquer expressão. Ele levantou as mãos, mostrando que vinha em paz. E fez um gesto para eu me sentar em uma coluna caída.
Sentei-me e ele fez o mesmo ficando bem na minha frente.
Por um tempo apenas nos observamos, calados. Então ele quebrou o silêncio.
– Meu nome é Eyvindr – sua garganta pareceu estar cheia de areia.
– Você deve saber o meu... – falei.
– Na verdade não – respondeu com sinceridade. – Lembro-me apenas do seu rosto. Aliás, como poderia me esquecer?
– Sou Alessio di Ettore. E quero respostas! – falei sem volteios.
– Pergunte o que quiser – falou Eyvindr. – Isso não garante que eu consiga esclarecer as suas dúvidas.
– Por quê? Por que fez isso comigo?
– Não há um motivo... – disse apoiando o queixo nas mãos entrelaçadas.
– Por que eu?
– Vamos dizer que você estava lá naquele momento, então poderia ter sido qualquer outro. Nunca o segui, tampouco vigiei a sua rotina, apenas encontrei-o. Chame de acaso, destino, de fatalidade ou de uma puta falta de sorte, se isso se tornou um peso para você.
– Você simplesmente saiu com vontade de morder alguém e transformá-lo nisso? – falei apontando para o meu rosto com o polegar.
– Eu queria deixar um pouco de mim nesse mundo – falou demonstrando ligeira tristeza. – Meus filhos estão mortos há séculos, minha família, meus companheiros... Eu mesmo já estou morto e vago nesse mundo há tempo demais. Meu corpo continua a cada noite, mas sinto que o meu espírito precisa muito partir. É como se a minha alma estivesse desligada da carne.
– Não estou entendendo nada – retruquei.
– E não há mesmo muito que compreender – sua voz ficou mais alta. – Depois de mais de 500 anos perambulando por esse mundo desgraçado, resolvi desistir da minha vida. Mas quis deixar o legado do meu sangue para alguém. E você foi o escolhido pelas circunstâncias... Para o bem ou para o mal, mas isso depende de como você vê a sua nova vida. E, sinceramente, não me interesso por isso.
– Você é bem antigo, mas não é o mais velho que conheci... – falei lembrando-me da jovem Tita. Por onde ela andará? – E já está desistindo?
– Sim e apenas estava esperando por você antes de partir para junto dos meus antepassados.
– Mas o que é isso que corre nas nossas veias? – perguntei ansioso. – Somos demônios? Deuses?
– Não sei o que somos – disse ao se levantar. – Quem fez isso comigo também não me deu qualquer explicação. Eu sequer sei como é o seu rosto, pois estava à beira da morte depois de ter sido perfurado na barriga por uma lança em uma batalha perdida. Mas não estava com raiva ou medo. Iria morrer empunhando a minha espada, depois de uma luta excitante, muito em breve eu iria festejar e me embebedar com os meus amigos que também tombaram. Minha vista nublou-se aos poucos e achei que já estava nas portas do outro mundo quando vi um vulto ficar ao meu lado. Depois uma dor no pescoço e, então, escuridão. Acordei tempos depois em uma caverna infestada de morcegos, vomitando e colocando as tripas para fora. E o resto da história você já deve imaginar. Você também passou por isso.
– E nunca farei isso com mais ninguém – levantei também.
Ele me deu as costas e caminhou por entre os escombros.
– No começo, após o sofrimento e o medo do desconhecido, depois que aprendi a duras penas o que poderia me ferir ou me matar, eu comecei a gostar de ser o que sou – disse como se falasse para si mesmo. – Destrocei guerreiros inimigos com as mãos nuas, deitei-me com mulheres maravilhosas, destronei reis e bispos.
Eyvindr fez uma longa pausa e fitou o teto do templo.
– Mas depois de séculos – continuou – enjoei, fiquei enfadado e até o sangue já não parece tão saboroso... Há tempos já vinha pensando em como acabar com a minha vida. Torrar-me ao Sol? Pular de um precipício altíssimo? Jogar-me dentro de um vulcão fumegante? Não, nada disso seria digno e eu não conseguiria ascender para junto dos meus antepassados. Eu teria que morrer pela espada.
– E não é tão fácil, não é? – falei lembrando-me das minhas próprias batalhas.
– Já fui cortado, perfurado, tive a cabeça esmagada por uma paulada bem dada, até o meu pescoço rasgaram certa vez – disse me fitando sem piscar. – Mas eu sempre me curava. No mesmo instante, dias depois ou meses depois. E não sobrou nenhuma cicatriz, exceto aquelas que ganhei antes de ser transformado. – respirou fundo. – Parece que quanto mais buscamos a morte, menos ela quer nos encontrar. Na verdade, ela se torna a nossa amante, a nossa cúmplice.
– Sei o que é isso...
– Então naquela noite, fiz uma promessa para mim mesmo – cerrou o punho direito. – Quem eu encontrasse primeiro, homem ou mulher, ganharia o poder do meu sangue e a minha maldição. E também seria o responsável pela minha morte. E você apareceu.
– Ei! – levantei-me – Que você me escolheu sem ter um porque, até posso aceitar, mas não vou matá-lo não. Eu vim em busca de respostas e não de sangue.
– E eu não as tenho! – o grito ecoou pelas paredes. – Tudo o que aprendi foi vivendo. E você está encaminhado, pois sobreviveu até agora. – desdenhou. – E até acho melhor que você encontre os seus próprios caminhos na sua jornada. Não sou um bom exemplo para ninguém.
– Então nossa conversa acabou.
O gigante segurou meus ombros e suas mãos pareciam duas prensas. Virou-me como um boneco e vi lágrimas de sangue nos seus olhos cinzentos.
– Se você tivesse uma doença – disse com a voz baixa, quase um sussurro – e essa lhe consumisse a cada dia, causando-lhe sofrimento e angústia, certamente iria querer acabar com a dor. Iria querer extirpar o mal que o assola, não é?
– Sim...
– Então – olhou-me profundamente nos olhos. – É assim que eu me sinto. Meu corpo se cura de qualquer tipo de ferimento, mas a minha alma está dilacerada.
– Por que você não se mata? – falei com frieza.
– Covardia, incapacidade, medo... Caralho! Os deuses sabem que eu já tentei! – o homem altivo se curvou, derrotado. – E também sabem que no derradeiro momento eu fracassei.
– E por que eu?
– Por anos, tentei morrer naturalmente – falou olhando para o vazio. – Contudo, nenhum dos meus inimigos foi competente o suficiente para tal feito – inspirou fundo. – Depois, pensei até em pagar alguém para dar cabo disso – falou. – Entretanto, seria uma morte vazia. Quero que minha vida se esvaia pelas mãos daquele que ganhou a minha imortalidade. Seria um belo final, concorda?
Não respondi. Apenas fiquei em silêncio pensando em tudo aquilo. Vim até aqui atrás de respostas que não existiam e agora um imortal desejava partir dessa para melhor pelas minhas mãos. Era uma noite estranha. Mas como pensar em normalidade depois de tudo o que vi e vivi? Como pensar em normalidade sendo o que sou?
– Posso lhe fazer uma última pergunta?
– Faça – disse Eyvindr.
– Por que me transformou e sumiu naquela noite?
– Eu não pretendia abandoná-lo. Pelo menos não daquele jeito súbito – seu rosto manchado de vermelho por causa das lágrimas lembrava uma máscara. – Porém, um homem apareceu e carregou-o até a sua casa. Então eu esperei e nas noites seguintes, durante algum tempo, acompanhei a sua vida, mas enfadei-me e resolvi me afastar. Resolvi buscar um último fôlego, algo que me fizesse querer prosseguir, mas não encontrei – inspirou longamente. – Então, chamei-o novamente e nosso elo de sangue o trouxe até mim.
– Eu sonhava com Roma mesmo sem nunca ter estado aqui – falei. – E senti uma necessidade latente em vir para cá, mesmo sem saber ao certo o porquê.
– Como diriam os padres da sua igreja: é o poder do criador sobre a criatura – seu rosto exibiu algo que lembrava um sorriso.
– E agora que estou aqui, você quer que eu o mate – disse balançando a cabeça. – Que história!
– O que acontece na nossa vida nem sempre tem motivos ou sentido – disse Eyvindr. – Ao contrário das tais parábolas e sermões contados pelos padres, a nossa existência é guiada pelo incerto, pelo indefinido e pelo acaso. Nem sempre temos lições ou uma iluminação espiritual. Não! Mesmo as histórias gravadas na pedra podem se esfarelar e ser levadas pelo vento. E acho que é bem isso mesmo... Seguimos ao sabor da inconstância.
Ele tinha razão. Viver é não saber o que vai acontecer no instante seguinte. Eu mesmo nunca imaginaria ficar frente a frente com o meu criador e muito menos que esse quisesse morrer pelas minhas mãos. Ou melhor, eu nunca imaginei me tornar um bebedor de sangue que pode ser torrado ao mais fraco raio de Sol.
Para mim, eu envelheceria trabalhando no vinhedo, até o dia que eu não conseguisse mais me levantar da cama, com as juntas rígidas. E assim, depois de algum tempo, morreria de velhice ou doença.
Fiquei em silêncio. Não sabia o que fazer. Eyvindr se afastou, adentrando mais nos escombros do templo de Saturno. Retornou instantes depois com duas espadas. Aproximou-se de mim, oferecendo o cabo da mais curta.
– Pegue.
Hesitei, mas segurei na empunhadura. Era uma espada rústica, pesada e parecia muito antiga. Ele me fitou com seus olhos cinzentos e não precisou dizer nada, pois eu sabia o que isso significava.
– Essa beleza me acompanhou por toda a minha vida – falou esboçando algo como um sorriso. – Nas guerras de antes de me tornar um andarilho da noite e em muitas outras depois que virei o que sou. E agora, quero dar a ela a honra do meu fim.
– Ai Jesus – falei ainda estranhando essa ideia. – Tem certeza de que deseja morrer? Você tem muito tempo para poder pensar e encontrar um caminho.
– Esses 500 anos foram suficientes – respondeu secamente. – Seja um bom cristão e me ajude acabar com a minha agonia. Deixe-me partir desse mundo nesse lugar em ruínas, de deuses antigos, sacrifícios e rituais de sangue – abriu os braços e rodou, olhando ao redor. – Perfeito, não é?
– Um bom cristão o aconselharia, mas não o mataria – retruquei.
– Chega de palavras ao vento – irritou-se. – Ajude-me a libertar a minha alma. Deixe-a encontrar o caminho até os meus antepassados. Pense que um dia você pode estar no meu lugar.
– Eu prefiro seguir a minha vida acreditando que Deus tem um propósito para mim – falei com um sorriso nervoso. – Mesmo me tornando isso ainda acredito que sou um dos seus filhos e espero manter a minha comunhão com o Espírito Santo.
– E se na sua eterna existência você não for digno do Reino dos Céus? – socou com violência uma coluna de pedra, deixando uma marca de sangue. – E se agora só lhe restar o tal Reino de Satanás? E se nem isso existir.
– Não quero nem pensar – estremeci. – Espero estar com as contas em ordem no Dia do Juízo Final.
– E você faria tudo o que fosse necessário para conseguir isso, certo?
– Sim – falei resoluto.
– Alessio di Ettore, então me ajude a prosseguir o meu caminho segundo as minhas crenças – implorou.
– Deixe-me pensar um pouco... – falei batendo os nós dos dedos na testa.
Saí do templo em ruínas e a neve fina caía devagar. Eu ainda empunhava a velha espada. Quanto sangue ela já derramou? E eu, apesar da curta existência nessa nova vida, quanto sangue já derramei?
Saía fumaça da minha boca e isso me fez imaginar os tormentos do fogo do inferno. Será que isso existia realmente ou era apenas uma história usada para nos amedrontar e nos deixar obedientes? Eu é que não iria pagar para ver.
– Merda. Isso não me deixa escolha.
Voltei para o templo de Saturno pisando duro e Eyvindr pareceu já conhecer a minha decisão, pois estava sorrindo. Parecia, enfim, haver vida naquele rosto de pedra.
– Vamos acabar logo com isso... – falei sem qualquer ânimo. – Como faremos?
– Beba o meu sangue e antes do meu coração parar, corte a minha cabeça – falou com uma naturalidade perturbadora.
Se eu pensasse demais, não faria, então fechei os olhos, inspirei profundamente e avancei como um cão de caça treinado. Eyvindr se ajoelhou e gargalhou. E sem qualquer hesitação cravei as presas no seu pescoço barbado. O sangue jorrou frio, entretanto, senti algo muito forte correr nas minhas veias. Algo que fez todo o meu corpo se estremecer e a minha respiração se acelerar bastante.
Continuei sugando e quanto mais eu chupava, mais sangue escorria pela minha garganta. Ele apenas ria e chorava ao mesmo tempo, pronunciando coisas em uma língua estranha. Então, senti o seu corpo se amolecer e o sangue não saia mais com tanta força.
Eu queria beber tudo, não deixar nenhuma gota, mas Eyvindr desejava morrer pela espada. Com um esforço imenso parei de sugar e me afastei. Ele estava mais pálido do que o normal e permanecia de joelhos em uma semiconsciência.
Apertei o punho da espada com força. E ele também fez o mesmo com a sua.
– A gente podia ter se conhecido melhor. Mas... Vá em paz!
O golpe foi certeiro. Decepei a sua cabeça facilmente. Ela rolou pelo chão de pedra e instantes depois o seu corpo tombou, inerte. E algo estranho aconteceu. Sua carcaça começou a murchar como uma fruta passada e a se encolher até ficar com menos da metade do seu tamanho, ressecada como quando tostamos a pele de um porco.
– Vá em paz! – repeti. – Encontre o seu caminho.
.
.
.
Fiz uma fogueira e joguei nas chamas os seus restos mortais que queimaram como lenha seca, estalando e fazendo o fogo soltar labaredas altas. As suas espadas, escondi-as sob uma lajota solta. Permaneceriam junto ao seu mestre. Pelo menos até serem encontradas e furtadas por algum ladrãozinho.
Voltei a Roma e perambulei no entorno do Coliseu. Prostitutas disputavam espaço com as rodas de jogos de dados e os vendedores de ópio. Algumas me mostravam as tetas opulentas e se ofereciam por alguns trocados. Mas a minha mente estava em outro lugar. Pensava se tinha ajudado Eyvindr ou apenas assassinado um homem perturbado. Nunca saberia a resposta, mas fiz-me acreditar na primeira. Eu já tinha problemas demais com as minhas próprias questões.
Ugo, Eyvindr e todos aqueles que me alimentaram... Tirei a vida deles como se estivesse matando uma galinha. O que mudou na minha consciência? Sinto que não sentia nenhum remorso verdadeiro.
Perguntas... E nenhuma resposta.
E assim o tempo passou. Vi a minha querida Tita muitas vezes ao longo dos anos. Ela vinha e ia como uma ave migratória fugindo da rigidez do inverno. Certa vez, no ano de 974, ela surgiu assoviando e mostrando um belo anel de ouro no dedo.
– Gostou? – perguntou faceira.
– Sim. Onde conseguiu? Matou algum rei? – zombei.
– Não... Alimentei-me de um tal de... Não me lembro do nome – coçou a ponta do nariz – só da alcunha anterior dele, Benedictus VI.
– O homem que era o Papa?
– Ele era Papa? Sei que o encontrei preso no Castelo de Santo Ângelo – desconversou. – Hum... Acho que sim. Foi esse mesmo. Apesar de que nas condições que ele se encontrava... Bom, deixa pra lá.
– Minha Nossa Senhora! – fiz o sinal da cruz.
– E para falar a verdade – falou enquanto fazia uma trança nos volumosos cabelos. – Para mim pouco importa quem o velhote era. O que vale é a barriga cheia.
– E um belo anel de ouro, não é?
Ela riu e por algumas noites caçamos juntos, vivemos juntos e nos divertimos bastante, de todas as maneiras. E, como de costume, Raposa sumiu sem qualquer aviso, antes mesmo de eu despertar.
Dias, meses e anos se confundiam na minha mente e como já haviam me alertado, o tempo começou a ficar diferente. Vi meu filho prosperar, envelhecer e morrer. Vi meus netos seguirem até o fim das suas vidas e depois os filhos deles. Algumas vezes questionei-me se deveria dar-lhes a minha imortalidade. A decisão foi difícil, mas não queria deixar as suas almas com esse fardo.
As noites ficavam cada vez mais iguais e muitas delas enfadonhas. Mas em novembro de 1146 fui encontrado por um padre inglês, William Long, mas ao contrário de Ugo, esse estava interessado em conversar.
– Mestre Alessio Hector – falou depois de fazer uma mesura.
– É Alessio di Ettore – respondi de pronto.
– Mil perdões – sorriu. – Alessio di Ettore – enfatizou a última letra.
– O que você quer comigo? – perguntei.
– Apenas conversar – disse ao me oferecer uma cadeira em seu minúsculo quarto na igreja de Santa Maria do Castelo em Udine.
– Espero que seja algo muito importante – falei. – Você interrompeu as minhas orações.
– Que indelicadeza a minha – disse. – É que venho observando-o há algum tempo e vejo que você sempre vem para a igreja após o Sol se pôr.
– Prefiro assim, pois é mais sossegado.
– Entendo... – soergueu as sobrancelhas. – A noite pode ser uma mãe, não é? Acolhedora e dura sempre na medida certa.
O sacana era sabido e já me conhecia muito bem. Assim começou uma conversa que durou por várias noites. De certa forma, ficamos amigos, pois ele nunca me ameaçou ou tentou impor seus dogmas para mim. O que havia era uma relação de respeito mútuo e muita curiosidade. William Long queria saber sobre tudo, sobre a minha família, sobre como me tornei o que sou e sobre Eyvindr. Ele sempre me ouvia atentamente e anotava algumas coisas em seus velinos caros.
Descobri que há vários como eu na Europa inteira e que ele voltaria para a sua terra natal para investigar um tal de Harold Stonecross.
– E o que esse tem de especial? – perguntei.
– Pelos relatos que tive de alguns amigos na Inglaterra, ao contrário de você, esse Harold gosta de matar por matar, de ostentar e de bajulação – falou depois de escarrar no chão. – Ele é a luxúria e a soberba em pessoa, então gostaria de tentar uma conversa para conhecê-lo melhor. Ele me pareceu muito, digamos, instigante.
– Ele deve ser perigoso – alertei.
– Sim, é verdade – assentiu. – Parece-me que ele aprecia mandar os bons homens da igreja para junto de Deus – tossiu. – E como o tal Eyvindr, disseram-me que ele cultua os deuses antigos do norte, que, aliás, ainda têm alguns seguidores naquela ilha. Vai ser um desafio e tanto ficar longe das suas presas, mas em nome do conhecimento, prefiro me arriscar – divertiu-se.
– Desejo-lhe sorte então – sorri. – Mas acho que antes de partir você deveria falar com a Tita – falei. – Ela, certamente, terá muitas histórias interessantes para contar.
– Eu já tentei – falou um pouco envergonhado. – Mas ela me deu um tapa na cara e disse que se eu continuasse seguindo-a, minhas tripas serviriam de petisco para os corvos. Daí ela me deu um beijo na boca e partiu assoviando – balançou a cabeça com o rosto corado. – É instigante como vocês podem ser tão diferentes.
– A vida tem várias faces, meu caro William Long – eu ri, lembrando-me da espevitada garota.
A Raposa, marota, não perdia o bom humor. Espero chegar à sua idade ainda com essa vitalidade.
– Agora se não se importa, gostaria de continuar as minhas orações antes de amanhecer – falei ao me levantar.
– Obrigado por tudo, Alessio – falou segurando as minhas mãos. – E que Deus lhe abençoe!
– Padre... – olhei-o profundamente. – Posso lhe fazer uma última pergunta?
– Claro.
– Eu vou para o inferno? A minha alma já está condenada? – encarei-o fixamente.
Ele olhou para o chão, para mim e depois para o teto, mordiscou o nó do dedo indicador, inspirou fundo e disse depois de refletir um pouco:
– Sinceramente... – seu semblante era sério. – Eu não sei e não vou mentir para você. Mas acredito que Deus é benevolente e, talvez, perdoe o que você faz. Então, se eu estivesse no seu lugar, preocupar-me-ia mais em como fazer, entende? E nunca deixe de ir à igreja e pagar penitências sempre que o seu coração se sentir pesado.
– Obrigado, padre – falei e saí do seu aposento. – Tentarei seguir o seu conselho.
Ele havia me dado apenas uma tênue esperança, mas já era algo para eu me apegar. Sentiria falta de William Long e algo me dizia que nunca mais nos veríamos, pois pelo que sei, a Inglaterra é bem longe. E ele ficaria entretido com o tal Harold Stonecross. Qualquer demônio devia ser mais interessante do que um simples camponês.
Confesso que fiquei um pouco triste, porém, já estava acostumado com aquilo. Qualquer pessoa nesse mundo sempre seria apenas passageira para mim. 10 dias, 10 meses ou 10 anos de convivência eram apenas instantes na minha existência. E esse era o meu maior sofrimento, o castigo mais duro.
Quem sabe Deus considerasse isso como uma penitência? Viver para ver todos os meus amores e amigos morrerem? Existir para ser testemunha das ruínas das cidades e das mudanças do mundo. Conhecer milhares de pessoas e, na verdade, sempre estar sozinho.
Pensando assim, consigo entender um pouco melhor o nosso Senhor, sozinho no seu alto trono pela eternidade. Será que um dia nos conheceremos?
Tomara...
Saí da igreja e naquela noite, depois de muitos anos, bebi novamente de um leproso. Acabei com o sofrimento do homem que perambulava pelas ruas tocando a sua sineta para avisar a todos das suas chagas. O gosto do sangue era horrível, mas mesmo assim, eu estava feliz.
Sabia que não faria disso uma rotina. Não tinha dom para me tornar um santo. Eu estava muito longe disso, mas sempre que a culpa pesasse muito, eu podia me resignar dos prazeres. E isso era exatamente o que as pessoas normais faziam. A igreja só existia por causa do medo. Se pregasse unicamente o amor e deixasse de lado as punições, apenas um punhado de fiéis ainda estaria ligado a ela.
Que Deus me perdoe, mas Ele só é Ele por causa da ameaça do Diabo. Satanás é necessário para que a igreja perdure.
Simples não é? Engenhosamente simples.
E eu sou um homem simples. Um camponês que se tornou imortal. Um imortal que mesmo com todos os poderes e todas as adversidades acredita em Deus, em Jesus e em todos os santos. E espero que eles ainda acreditem em mim.
Na minha vida pacata antes do acontecimento eu adorava vinho. Agora é o sangue das pessoas de quem me alimento que inunda as minhas veias e me inebria.
E o mais interessante é que, ainda menino, aprendi que na Santa Ceia, Jesus deu vinho para os apóstolos e disse: “bebei, pois isto é o meu sangue”. E hoje dependo totalmente desse líquido para sobreviver.
Que ironia!
Quando aprendi a ler, depois que cheguei aqui em Roma vi essa passagem na Bíblia:
“Em verdade, em verdade, vos digo: se não comerdes a Carne do Filho do Homem e não beberdes o seu Sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a Minha Carne e bebe o Meu Sangue tem a vida eterna e EU o ressuscitarei no último dia. Pois a Minha Carne é verdadeira comida e o Meu Sangue, verdadeira bebida. Quem come a Minha Carne e bebe o Meu Sangue permanece em MIM e EU nele”.
Por diversas vezes peguei-me pensando se Pedro, Paulo, Mateus e os outros apóstolos não seriam como eu? O próprio Jesus não seria um ser tal qual Eyvindr, que deu o seu sangue para me transformar? De fato, nós morremos e renascemos nas sombras.
Por essa passagem da Bíblia, estou seguindo literalmente os ensinamentos de Cristo. Estou obedecendo a uma das suas lições mais importantes. Tudo é questão de interpretação e de enxergar as respostas nas entrelinhas, palavra que aprendi com um vendedor de relíquias sagradas, bom, nem tão sagradas assim, muito culto e viajado.
É um pecado pensar assim?
Pode ser.
Mas um pecado a mais ou um a menos em uma lista que vai ser escrita ininterruptamente até do fim dos tempos não faz tanta diferença assim.
Não é?
E esses pensamentos, na verdade, ajudam-me a me aproximar cada vez mais de Deus, pois na minha interpretação desse trecho das Escrituras Sagradas, todos que estavam naquela mesa são como eu. Afinal, desfrutar do sangue mortal para manter a imortalidade e a eternidade só pode ser algo divino.
Será que posso me considerar um dos discípulos de Jesus? Pensei.
– Senhor – falei olhando para as estrelas. – Se isso for realmente verdade, essa foi uma jogada de mestre. E, por essas e outras é que agora Você reina absoluto no lugar dos deuses esquecidos.
Uma estrela cadente cortou o céu. Entendi como uma piscadela marota de Deus.
Sorri.
E continuei o meu caminho pela escuridão, sem destino, com todo o tempo do mundo ao meu lado e com muitas dúvidas na mente. Perguntas e suspeitas eu tinha centenas e apenas uma certeza, a de que, por incontáveis noites, eu andaria por esse mundão de nosso Senhor.
Amém.
Eduardo Kasse
O melhor da literatura para todos os gostos e idades


















