



Biblio VT




U Po Kyin, magistrado subdivisional de Kyauktada, na Alta Birmânia, estava sentado em sua varanda. Eram só oito e meia da manhã, mas o mês era abril e havia uma opressão no ar, a ameaça das longas horas sufocantes do meio do dia. Fracos e ocasionais arquejos de vento, dando uma impressão de frescor por contraste, agitavam as orquídeas recém-regadas que pendiam do beiral. Para além das orquídeas podia-se ver o tronco empoeirado e curvo de uma palmeira, e em seguida o fulgor do céu de um azul ultramarino. No zênite, tão altos que ofuscava olhar para eles, alguns abutres descreviam círculos com as asas totalmente imóveis. Sem mudar de expressão, lembrando um grande ídolo de porcelana, U Po Kyin contemplava o mundo imerso na feroz luz do sol. Era um homem de cinqüenta anos, tão gordo que fazia anos não conseguia se levantar da cadeira sem ajuda, porém ao mesmo tempo gracioso e até belo em sua corpulência; porque os birmaneses obesos não ficam flácidos e encalombados como os brancos, mas engordam simetricamente, por igual, como frutos inchados. Seu rosto era largo, amarelo e quase sem rugas, e seus olhos de um castanho muito claro. Seus pés — pés gordos e arqueados, com todos os dedos do mesmo comprimento — estavam descalços, assim como a cabeça raspada também estava descoberta, e ele usava um dos alegres longyis* produzidos em Arakan, quadriculados de verde e magenta, que os birmaneses gostam de vestir em ocasiões informais.
.
.
.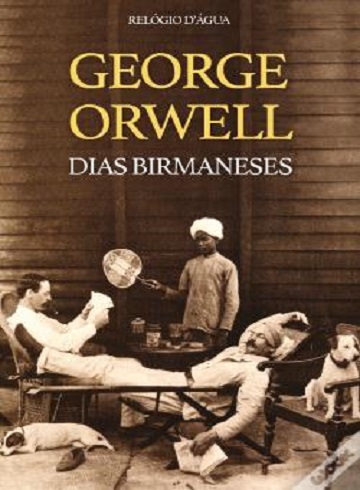
Mascava bétel, que guardava numa caixa laqueada em cima da mesa, e pensava em sua vida passada. Tinha sido uma vida de sucesso notável. A memória mais remota de U Po Kyin, na década de 1880, era a de ter assistido de pé, ainda um menino nu e barrigudo, ao desfile dos soldados britânicos que entravam triunfalmente em Mandalay. Lembrouse do terror que sentira diante daquelas colunas de homens imensos alimentados de carne bovina, com seus rostos corados e casacos vermelhos; e dos fuzis de cano longo que traziam presos ao ombro, e do trovejar pesado e rítmico de suas botas. Saíra correndo, depois de vê-los marchar por alguns minutos. A seu modo infantil, percebera que seu povo não tinha a menor condição de enfrentar aquela raça de gigantes. Alinhar-se do lado dos britânicos, transformar-se num parasita deles, constituiu sua maior ambição desde a infância. Aos dezessete anos, tentou obter seu primeiro cargo no governo, mas fracassou, por ser pobre e não ter amigos, e nos três anos seguintes trabalhou no malcheiroso labirinto dos bazares de Mandalay, fazendo vendas para os mercadores de arroz e às vezes roubando-os. Aos vinte anos, um bem-sucedido golpe de chantagem lhe valeu quatrocentas rupias, com as quais foi imediatamente até Rangoon e comprou um cargo de pequeno funcionário no governo. O emprego era lucrativo, embora o salário fosse pequeno. Àquela altura, uma quadrilha de funcionários vinha auferindo uma renda regular mediante a desapropriação sistemática de bens públicos, e Po Kyin (na época apenas Po Kyin: o U honorífico só viria anos depois) aderiu naturalmente a esse tipo de operação. Entretanto, tinha talento demais para passar o resto da vida num cargo como aquele, contando miseravelmente seus roubos em moedas de pouco valor como annas e pice. Um dia, descobriu que o governo, diante da falta de quadros para cargos de importância intermediária, pretendia promover alguns pequenos funcionários como ele. A notícia iria se tornar pública dali a uma semana, mas uma das qualidade de Po Kyin era sempre conseguir as informações uma semana antes de todo mundo. Ele viu ali sua oportunidade, e denunciou todos os seus cúmplices antes que eles pudessem se precaver. A maioria foi mandada para a prisão, e Po Kyin acabou nomeado supervisor assistente municipal como recompensa por sua honestidade. Desde então, nunca mais deixou de subir. Agora, aos cinqüenta e seis anos, era magistrado subdivisional, e tudo indicava que seria promovido ainda mais e nomeado comissário assistente, tendo ingleses como seus iguais e até mesmo sob suas ordens. Como magistrado, seus métodos eram simples. Mesmo pelo maior dos subornos, ele jamais vendia a decisão de um caso, pois sabia que um magistrado que emite julgamentos errados acaba sendo descoberto mais cedo ou mais tarde. Seu modo de agir, muito mais seguro, era aceitar suborno dos dois lados e, depois, resolver o caso estritamente de acordo com a lei. O que ainda lhe valia uma muito proveitosa reputação de imparcialidade. Além da renda que auferia junto aos litigantes, U Po Kyin extorquia um tributo permanente, uma espécie de taxação particular, de todas as aldeias submetidas à sua jurisdição. Se alguma aldeia deixava de pagar seus tributos, U Po Kyin adotava medidas punitivas — bandos de dacoits atacavam a aldeia, os moradores mais importantes eram presos com base em falsas acusações, e assim por diante —, e não demorava muito a soma devida acabava sendo paga. Ele também recebia uma parte de todos os roubos de maior porte que ocorriam no distrito. Quase todo mundo, claro, sabia disso, menos os superiores de U Po Kyin (nenhuma autoridade britânica jamais acreditaria numa acusação feita contra seus próprios homens), só que todas as tentativas de denunciá-lo sempre fracassavam; os homens que o apoiavam e cuja lealdade era alimentada por uma parte do butim eram numerosos demais. Toda vez que alguma acusação era feita contra ele, U Po Kyin se limitava a desacreditá-la lançando mão de uma série de testemunhas subornadas, disparando em seguida contra-acusações que o deixavam numa posição mais forte do que nunca. Era praticamente invulnerável, tal sua eficiência em julgar o caráter alheio e assim jamais escolher um intermediário errado, e também porque se entregava à intriga com tanta concentração que jamais cometia um erro por descuido ou ignorância. Podia-se dizer, quase com certeza, que ele nunca seria apanhado, que seguiria em frente, de sucesso em sucesso, e que por fim haveria de morrer coberto de honrarias, com uma fortuna de vários lakhs de rupias. E mesmo no além-túmulo seu triunfo haveria de continuar. De acordo com a crença budista, os que praticam o mal na vida passam à encarnação seguinte na forma de um rato, um sapo ou algum outro animal inferior. U Po Kyin era um bom budista e estava decidido a se prevenir contra esse risco. Havia de dedicar seus últimos anos a boas causas, graças às quais acumularia mérito suficiente para sobrepujar o que ocorrera no restante de sua vida. É provável que suas boas obras tomassem a forma da construção de pagodes. Quatro pagodes, cinco, seis, sete — os monges lhe diriam quantos — com adornos de pedra esculpida, toldos de orla dourada e sinetas que tocavam ao vento, cada toque uma prece. E ele voltaria à terra em forma humana e masculina — pois a mulher tinha mais ou menos a mesma importância hierárquica de um rato ou um sapo — ou, na pior das hipóteses, na forma de algum animal digno, como um elefante. Todos esses pensamentos corriam rapidamente pelo espírito de U Po Kyin, e quase sempre em imagens. Seu cérebro, embora astucioso, era bastante bárbaro, e só funcionava para determinadas finalidades; a mera meditação estava além de seus hábitos. E agora ele chegava ao ponto para o qual vinham tendendo seus pensamentos. Apoiando as mãos pequenas e triangulares nos braços da cadeira, virou-se um pouco para trás e chamou, com uma voz roufenha: “Ba Taik! Ei, Ba Taik!” Ba Taik, criado de U Po Kyin, surgiu através da cortina de contas da varanda. Era um homem miúdo e coberto de marcas de varíola, com uma expressão tímida e faminta. U Po Kyin não lhe pagava salário, porque era um ladrão condenado que uma palavra bastaria para devolver à prisão. À medida que avançava, Ba Taik fazia uma reverência tão profunda que dava a impressão de estar dando um passo para trás. “Sagrado deus?”, disse ele. “Há alguém esperando para me ver, Ba Taik?” Ba Taik enumerou os visitantes nos dedos: “O chefe da aldeia de Thitpingyi, Excelência, que lhe trouxe presentes, e mais dois aldeões envolvidos num caso de agressão que será julgado por Sua Excelência, e eles também lhe trouxeram presentes. Ko Ba Sein, o funcionário-chefe do gabinete do vice-comissário, quer vêlo, e também Ali Shah, o policial, e um dacoit cujo nome eu não sei. Acho que se desentenderam por causa de uns brincos de ouro roubados. E também uma jovem aldeã com um bebê.” “O que ela quer?”, perguntou U Po Kyin. “Está dizendo que o filho é seu, Santidade.” “Ah. E quanto trouxe o chefe da aldeia?” Ba Taik achava que eram apenas dez rupias e uma cesta de mangas. “Diga ao chefe”, disse U Po Kyin, “que precisa me trazer vinte rupias, e que ele e a aldeia terão muitos problemas se o dinheiro não estiver aqui amanhã. E agora vou receber os outros. Peça a Ko Ba Sein que venha me ver aqui.” Ba Sein apareceu dali a instantes. Era um homem ereto, de ombros estreitos, muito alto para um birmanês, com o rosto curiosamente liso de uma cor e textura que lembravam um pudim de café. U Po Kyin o considerava um instrumento útil. Desprovido de imaginação, mas muito esforçado, era um funcionário excelente, e o sr. Macgregor, o vice-comissário, confiava-lhe a maioria de seus segredos oficiais. U Po Kyin, que seus pensamentos anteriores haviam deixado de bom humor, cumprimentou Ba Sein rindo e indicou a caixa de bétel com um aceno. “E então, Ko Ba Sein, como está caminhando o nosso negócio? Espero que, como diria o senhor Macgregor” — e U Po Kyin passou a falar em inglês —, “esteja fazendo progressos perceptíveis.” Ba Sein não riu do gracejo. Sentando-se muito ereto e com as costas bem alongadas na cadeira vazia, respondeu: “Está excelente, senhor. O nosso exemplar do jornal chegou hoje de manhã. Tenha a bondade de ler.” Exibiu um exemplar do jornal bilíngüe chamado O Patriota Birmanês. Era um pobre jornaleco de oito páginas, horrivelmente impresso num papel que era quase um mata-borrão, consistindo em parte em notícias roubadas da Gazeta de Rangoon, em parte em textos fracos sobre o culto ao heroísmo nacionalista. Na última página, os tipos tinham escorregado e deixado o papel todo coberto de preto, como que de luto pela exigüidade da tiragem do jornal. O artigo ao qual U Po Kyin dedicou atenção tinha um cunho bem diferente do resto. E dizia:
Nestes tempos felizes em que nós, os pobres negros, vimos sendo beneficiados pela poderosa civilização ocidental, com suas inúmeras bênçãos, tais como o cinematógrafo, as metralhadoras, a sífilis etc., que tema poderia ser mais inspirador do que a vida particular dos nossos benfeitores europeus? Pensamos, assim, que pode interessar aos nossos leitores saber um pouco acerca do que vem acontecendo no distrito de Kyauktada, no norte do país. E especialmente acerca do sr. Macgregor, honrado vice-comissário do citado distrito. O sr. Macgregor é o protótipo do Perfeito Cavalheiro Inglês, de que, nestes tempos felizes, temos tantos bons exemplos diante dos olhos. É um “homem de família”, como dizem nossos queridos primos ingleses. De fato, um homem de muito zelo para com a família, o sr. Macgregor. Tanto que já acumula três filhos no distrito de Kyauktada, onde vive há apenas um ano, e no seu distrito anterior, de Shwemyo, deixou para trás seis jovens descendentes. Talvez seja uma certa ligeireza da parte do sr. Macgregor ter deixado essas jovens criaturas sem nenhum amparo, e algumas das mães correndo o risco de passar fome etc. etc. etc.
Havia mais uma coluna de matérias semelhantes, e por mais terríveis que fossem, ainda assim ficavam num nível bem superior ao do restante do jornal. U Po Kyin leu com atenção o artigo de ponta a ponta, segurando-o com o braço esticado — tinha a
vista cansada — e franzindo pensativamente os lábios, o que revelava uma incrível quantidade de dentes pequenos e perfeitos, tintos de vermelho-sangue devido ao suco do bétel. “O editor será condenado a seis meses de prisão por causa disto”, disse por fim. “Ele não se importa. Diz que só na prisão consegue ser deixado em paz pelos credores.” “E você me contou que foi o seu aprendiz Hla Pe quem escreveu este artigo sozinho? O rapaz é muito esperto — muito promissor! Nunca mais torne a me dizer que essas Escolas Secundárias do Governo são uma perda de tempo. Hla Pe certamente deve ser promovido a funcionário titular.” “O senhor então acha que o artigo vai bastar?” U Po Kyin não respondeu de imediato. Começara a emitir um som de sopro laborioso; tentava levantar-se da cadeira. Era um som que Ba Taik conhecia bem. Ele apareceu por trás da cortina de contas, e ele e Ba Sein puseram uma das mãos debaixo de cada axila de U Po Kyin e o ajudaram a se erguer. U Po Kyin ficou algum tempo equilibrando o peso da barriga nas pernas, fazendo os movimentos de um carregador de peixes que endireita sua carga. Em seguida, dispensou Ba Taik com um gesto. “Não, não basta”, disse ele, respondendo à pergunta de Ba Sein, “de maneira nenhuma. Ainda precisamos fazer muito mais. Mas foi o começo certo. Escute.” Foi até a balaustrada cuspir restos escarlates de bétel, depois começou a percorrer a varanda com passos curtos, as mãos atrás das costas. A fricção de suas vastas coxas o fazia oscilar ligeiramente. À medida que caminhava, ia falando, no jargão básico dos funcionários públicos — uma colcha de retalhos que reunia verbos birmaneses com expressões abstratas inglesas: “Bom, agora vamos cuidar desse caso desde o início. Vamos fazer um ataque combinado ao doutor Veraswami, que é o médico civil e superintendente da prisão. Vamos caluniá-lo, destruir sua reputação e, no final, deixá-lo desgraçado para sempre. Vai ser uma operação delicada.” “Sim, senhor.” “Não vamos correr nenhum risco, precisamos fazer as coisas devagar. Quem vai estar na nossa mira não é um funcionário comum, ou um mero policial. É um alto funcionário, e com um alto funcionário, mesmo que seja indiano, não agimos da mesma forma que com um escrevente qualquer. Para arruinar um escrevente, como se faz? É fácil; uma acusação, duas dúzias de testemunhas, demissão e cadeia. Mas nesse caso não adianta. De mansinho, de mansinho, de mansinho é o jeito certo. Nada de escândalo e, acima de tudo, nada de inquérito oficial. Não pode haver nenhuma acusação passível de resposta, mas ainda assim, dentro de três meses, quero fixar na cabeça de todos os europeus de Kyauktada que o nosso médico não presta. Do que será que eu posso acusá-lo? De suborno não pode ser, nenhum médico
tem a oportunidade de receber suborno. Do quê, então?” “Podíamos talvez organizar uma rebelião na cadeia”, disse Ba Sein. “Na qualidade de superintendente, o doutor podia levar a culpa.” “Não, é perigoso demais. Não quero os guardas da cadeia dando tiros de fuzil para todo lado. Além disso, iria custar muito caro. Então, é óbvio que a acusação só pode ser uma: deslealdade — nacionalismo, propaganda sediciosa. Precisamos convencer os europeus de que o doutor tem opiniões desleais e antibritânicas. É muito pior do que suborno; para eles, é até natural que um funcionário nativo aceite suborno. Mas, se eles suspeitarem da lealdade dele por um momento que seja, o homem está perdido.” “É coisa difícil de provar”, objetou Ba Sein. “O médico é muito leal aos europeus. Fica irritado quando dizem alguma coisa contra eles. E eles devem saber disso, o senhor não acha?” “Bobagem, bobagem”, disse U Po Kyin, muito seguro. “Os europeus dão pouca importância às provas. Quando um homem tem a cara preta, a menor suspeita já basta. Algumas cartas anônimas produzem milagres. É só uma questão de persistência. Acusar, acusar, e continuar acusando — é assim que a coisa funciona com os europeus. Uma carta anônima atrás da outra, endereçada a um europeu depois do outro. E então, quando as suspeitas estiverem despertadas...” U Po Kyin tirou um dos braços de trás das costas e estalou os dedos. Depois acrescentou: “Começamos com este artigo no Patriota Birmanês. Os europeus vão ficar furiosos quando lerem. E então o próximo movimento será convencê-los de que foi escrito pelo médico”. “Vai ser difícil enquanto ele tiver amigos europeus. É ele que todos procuram quando ficam doentes. Ele curou o senhor Macgregor da flatulência quando o tempo ficou mais frio. É considerado um médico muito habilidoso, acho.” “Como você entende pouco da mentalidade européia, Ko Ba Sein! Se os europeus procuram o doutor Veraswami, é só porque não existe outro médico em Kyauktada. Nenhum europeu confia num homem de cara preta. Não, com as cartas anônimas é só uma questão de mandar o número certo delas. Vou cuidar para que daqui a pouco ele não tenha mais nenhum amigo.” “Mas tem o senhor Flory, o comerciante de madeira”, disse Ba Sein (da maneira como pronunciava, o nome parecia “Porley”.) “Ele é amigo íntimo do doutor. Todo dia de manhã, quando está em Kyauktada, vai à casa dele. E duas vezes até convidou o médico para jantar na casa dele.” “Ah, nisso você está certo. Se Flory continuar amigo do doutor, isso poderá nos prejudicar. Não é possível atacar um indiano que tenha um amigo europeu. A amizade com um branco lhe dá — como é mesmo a palavra de que eles gostam tanto? — prestígio. Mas eu sei que Flory há de abandonar o amigo na mesma hora, assim que os problemas começarem. Essas pessoas não têm o menor sentimento de lealdade para com os nativos. Além disso, por acaso eu sei que Flory é um covarde.
Com ele eu posso lidar. A sua parte, Ko Ba Sein, é vigiar os movimentos de Macgregor. Ele tem escrito para o comissário ultimamente — serão cartas confidenciais?” “Escreveu há dois dias, mas quando abrimos a carta com vapor vimos que não continha nada de importante.” “Pois bem, então vamos lhe dar assunto. E assim que ele começar a suspeitar do médico, vai ser a hora de começarmos a tratar daquele outro caso de que eu lhe falei. E assim nós vamos — como é mesmo que diz o senhor Macgregor? Ah, sim, ‘matar dois coelhos com uma só cajadada’. Várias dúzias de coelhos — ha, ha!” O riso de U Po Kyin era um asqueroso som borbulhante que brotava do fundo de sua barriga, parecendo o prenúncio de uma crise de tosse; mas ainda assim era muito alegre, quase infantil. Não disse mais nada sobre o tal “outro caso”, secreto demais para ser discutido mesmo na varanda. Ba Sein, vendo que a entrevista se encerrava, levantou-se e fez uma reverência, angular como a de uma régua dobrável. “Existe mais alguma coisa que Sua Excelência deseje ver realizada?”, perguntou. “Assegure-se de que Macgregor receberá o seu exemplar do Patriota Birmanês. E é melhor dizer a Hla Pe que ele deverá ter um ataque de disenteria e ficar longe do escritório. Vou precisar dele para escrever as cartas anônimas. Por enquanto, é só.” “Posso ir então?” “E vá com Deus”, respondeu U Po Kyin com uma expressão muito distraída, e na mesma hora gritou, chamando de novo Ba Taik. Jamais desperdiçava um minuto sequer do seu dia. Não precisou de muito tempo para lidar com os outros visitantes e mandar a moça da aldeia embora sem nada, depois de examinar seu rosto e concluir que não a reconhecia. Estava na hora do seu café-da-manhã. Fisgadas violentas de fome, que o atacavam pontualmente a essa mesma hora toda manhã, começavam a atormentar seu ventre. E gritou, com um tom de urgência: “Ba Taik! Ei, Ba Taik! Kin Kin! Meu café-da-manhã! Depressa, estou morto de fome!” Na sala por trás da cortina, a mesa já estava posta com uma tigela grande de arroz e uma dúzia de travessas contendo vários tipos de molho à base de curry, camarões secos e manga verde fatiada. U Po Kyin avançou penosamente até a mesa, sentou-se com um grunhido e na mesma hora atirou-se sobre a comida. Ma Kin, sua esposa, ficava de pé atrás dele e o servia. Era uma mulher magra de quarenta e cinco anos, com um rosto gentil e simiesco de um tom castanho-claro. U Po Kyin não tomava conhecimento da presença dela enquanto comia. Com a tigela próxima do nariz, mandava a comida para dentro de si com dedos rápidos e engordurados, respirando muito depressa. Todas as suas refeições eram rápidas, apaixonadas e imensas; eram antes orgias do que refeições, verdadeiras bacanais de arroz e curry. Depois que acabou, recostou-se na cadeira, arrotou várias vezes e disse a Ma Kin que fosse buscar para ele um charuto verde birmanês. Ele jamais fumava tabaco inglês, que,
segundo ele, não tinha sabor. Em seguida, com a ajuda de Ba Taik, U Po Kyin envergou os trajes de seu ofício e ficou algum tempo se admirando à frente do espelho alto da sala. Era uma sala de paredes de madeira e com dois pilares, ainda reconhecíveis como troncos de teca, sustentando a viga mestra do telhado, escura e um tanto suja como todos os aposentos das casas birmanesas, embora U Po Kyin a tivesse mobiliado à “moda Ingaleik”, com cadeiras, um bufê de madeira envernizada, algumas litografias da Família Real e um extintor de incêndio. O piso era coberto de esteiras de bambu, muito salpicadas de suco de limão e bétel. Ma Kin estava sentada numa esteira a um canto, costurando um ingyi. U Po Kyin girou lentamente à frente do espelho, tentando ver-se de costas. Vestia um gaungbaung de seda rosa-claro, um ingyi de musselina engomada e um paso de seda de Mandalay, de um lindo rosa-salmão brocado de amarelo. Com grande esforço, virou a cabeça e olhou, satisfeito, para o paso justo e lustroso que descia por suas nádegas imensas. Orgulhava-se de sua gordura, porque via a carne acumulada como o símbolo de sua grandeza. Ele, que já tinha sido um homem esfaimado e obscuro, era agora gordo, rico e temido. Estava inchado com o corpo de seus inimigos; uma idéia de que extraía algo próximo à poesia. “Meu novo paso custou pouco, só vinte e duas rupias, não é, Kin Kin?”, disse ele. Ma Kin inclinou a cabeça sobre sua costura. Era uma mulher simples e antiquada, que aprendera ainda menos hábitos europeus do que U Po Kyin. Não conseguia sentar-se numa cadeira sem desconforto. Todas as manhãs, ia ao mercado com uma cesta na cabeça, como uma camponesa, e à noite podia ser vista ajoelhada no jardim, rezando para a torre branca do pagode que coroava a cidade. Vinha sendo a confidente das intrigas de U Po Kyin havia mais de vinte anos. “Ko Po Kyin”, disse ela, “você fez muitas maldades na vida.” U Po Kyin fez um gesto com a mão. “O que importa? Meus pagodes vão compensar tudo. Ainda tenho muito tempo pela frente.” Ma Kin tornou a inclinar a cabeça sobre a costura, no gesto obstinado que fazia quando reprovava alguma ação de U Po Kyin. “Mas, Ko Po Kyin, qual é a necessidade de tantos planos e intrigas? Ouvi você falando com Ko Ba Sein na varanda. Você está planejando alguma maldade contra o doutor Veraswami. Por que quer atingir o médico indiano? Ele é um bom homem.” “Você não entende nada desses negócios oficiais, mulher. O médico está no meu caminho. Em primeiro lugar, ele recusa suborno, o que dificulta a vida de muitos de nós. E além disso... Bem, tem mais uma coisa que você nunca teria miolos para entender.” “Ko Po Kyin, você ficou rico e poderoso, e de que isso lhe serve? Vivíamos mais felizes quando éramos mais pobres. Ah, eu me lembro tão bem de quando você era um simples Funcionário da Cidade, me lembro da primeira casa que compramos. Como ficamos orgulhosos dos nossos móveis de vime e da sua caneta-tinteiro com
tampa de ouro! E quando aquele jovem policial inglês esteve aqui em casa, sentou-se na melhor cadeira e tomou uma garrafa de cerveja, como nos sentimos honrados! A felicidade não está no dinheiro. Por que você quer mais dinheiro agora?” “Bobagem, mulher, bobagem! Vá cuidar da sua comida e deixe as questões oficiais para quem entende delas.” “Bem, eu não sei. Sou só a sua mulher, e sempre fui obediente. Mas nunca é cedo demais para adquirir mais méritos. Você devia se esforçar para adquirir mais créditos, Ko Po Kyin! Por que, por exemplo, não compra um peixe vivo e o solta no rio? Isso confere muito mérito a uma pessoa. E também, hoje de manhã, quando os sacerdotes vieram buscar o arroz, contaram que chegaram dois novos monges ao mosteiro, e que estão com fome. Por que não dá alguma coisa a eles, Ko Po Kyin? Eu mesma só não lhes dei nada para você poder dar e ficar com o mérito.” U Po Kyin afastou-se do espelho. O apelo tocou-o um pouco. Sempre que não lhe causasse muita inconveniência, procurava aproveitar as oportunidades de adquirir algum mérito. A seus olhos, o mérito acumulado era uma espécie de depósito bancário numa conta que sempre crescia. Cada peixe solto no rio, cada oferta feita a um monge era mais um passo na direção do nirvana. Uma idéia reconfortante. Deu ordens para que a cesta de mangas que lhe fora trazida pelo chefe da aldeia fosse encaminhada ao mosteiro. Em seguida, deixou sua casa e saiu caminhando pela rua, seguido por Ba Taik, que carregava uma pilha de papéis. Andava devagar, com o corpo muito ereto para equilibrar a vasta barriga, e segurando uma sombrinha de seda amarela acima da cabeça. Seu paso cor-de-rosa cintilava ao sol, lembrando um confeito acetinado. Tomou o rumo do tribunal, para julgar os casos do dia.
*
* As notas do tradutor encontram-se no fim do livro. (N. E.)
2.
Mais ou menos ao mesmo tempo que U Po Kyin começava suas atividades matinais, o sr. “Porley”, o comerciante de madeira amigo do dr. Veraswami, saía de casa rumo ao Clube. Flory era um homem de uns trinta e cinco anos, de altura mediana e porte razoável. Tinha cabelos muito pretos e crespos que cresciam acima de uma testa baixa, um bigode preto aparado, e sua pele, naturalmente amarelada, estava tisnada de sol. Como não engordara nem perdera os cabelos, não parecia mais velho, mas seu rosto era muito abatido apesar do bronzeado, com as faces encovadas e uma aparência macilenta e desbotada em torno dos olhos. Era óbvio que não se barbeara naquela manhã. Vestia sua costumeira camisa branca, com calças curtas cáqui e meias, mas em vez de um topi usava um chapéu surrado do tipo terai, desabado sobre um dos olhos. Carregava uma bengala de bambu com uma correia para prender ao pulso, e uma cadela cocker spaniel preta chamada Flo trotava atrás dele. No entanto, todos esses traços eram secundários. A primeira coisa que se notava em Flory era uma horrível marca de nascença que se espalhava, na forma aproximada de uma meia-lua irregular, pela face esquerda, do olho ao canto da boca. Visto da esquerda, seu rosto tinha uma aparência sofrida e angustiante, como se aquela marca fosse um hematoma — porque tinha uma cor arroxeada. E ele sabia perfeitamente bem o quanto ela era repulsiva. E em todos os momentos, sempre que não estava só, seus movimentos tinham algo de enviesado, como se manobrasse o corpo o tempo todo para manter aquela marca fora de vista. A casa de Flory ficava no alto do maidan, perto da orla da floresta. Depois do portão, o maidan se estendia num declive acentuado, estorricado e de cor pardacenta, com meia dúzia de ofuscantes bangalôs brancos espalhados por toda a volta. Tudo estremecia e oscilava no ar quente. Um muro branco cercava o cemitério inglês à meia altura da encosta, e ali perto se erguia uma igrejinha de telhado de zinco. Para além dela ficava o Clube Europeu, e quando uma pessoa olhava para o Clube — uma construção modesta de madeira de um único piso — contemplava o verdadeiro centro da cidade. Em qualquer cidade da Índia, o Clube Europeu é a cidadela espiritual, a verdadeira sede do poder britânico, o nirvana pelo qual os funcionários públicos e os milionários nativos anseiam em vão. O que no caso se aplicava em dobro, porque o Clube de Kyauktada orgulhava-se de praticamente ser o único na Birmânia a jamais ter admitido um membro oriental. Mais abaixo, depois do Clube, corria o Irrawaddy, imenso e ocre, cintilando como um veio de diamantes nos pontos em que batia o sol; e além do rio se estendiam grandes extensões de arrozais, que no horizonte terminavam numa cordilheira de montanhas quase negras. A cidade dos nativos, o tribunal e a cadeia ficavam à direita, quase ocultos por grupos verdes de figueiras-dos-pagodes. A torre do próprio pagode erguia-se em meio às árvores como uma lança delgada com ponta de ouro. Kyauktada era uma
cidade típica da Alta Birmânia e não mudara muito desde os dias de Marco Polo até os da Segunda Guerra da Birmânia, e teria passado pelo menos mais um século atolada na Idade Média caso sua localização não fosse conveniente para uma estação ferroviária. Em 1910, o governo a transformara em sede de distrito e foco do progresso — o que se traduzia em um quarteirão de tribunais, com suas hostes de gordos suplicantes mas sempre esfomeados, um hospital, uma escola e uma dessas cadeias imensas e muito duráveis que os ingleses nunca deixam de construir por onde passam, de Gibraltar a Hong Kong. Tinha uma população de cerca de quatro mil habitantes, entre eles umas poucas centenas de indianos, algumas dezenas de chineses e sete europeus. Havia ainda dois eurasianos, chamados sr. Francis e sr. Samuel, filhos, respectivamente, de um missionário batista americano e de um missionário católico. A cidade não oferecia atrações de nenhum tipo, exceção feita a um faquir indiano que passara vinte anos encarapitado numa árvore junto ao bazar, içando sua comida numa cesta todas as manhãs. Flory bocejava enquanto saía pelo portão. Quase se embriagara na noite anterior, e a claridade o deixava um tanto indisposto. “É um buraco, um maldito buraco”, pensou, olhando morro abaixo. E, como por perto não havia ninguém além do cachorro, começou a cantar em voz alta “Oh, maldito é este lugar...”, ao som de um hino religioso cuja letra original dizia “Oh, bendito é o Senhor”, enquanto descia pelo caminho quente e vermelho, golpeando a relva ressecada com a bengala. Eram quase nove horas, e o sol ia ficando mais feroz a cada minuto. O calor martelava a cabeça dos passantes como golpes regulares e ritmados desferidos por um imenso travesseiro. Flory parou junto ao portão do Clube, perguntando-se se não seria o caso de entrar em vez de descer um pouco mais pelo caminho e ir ver o dr. Veraswami. Então lembrou-se de que era o “dia do correio inglês” e que os jornais e as revistas já teriam chegado. Entrou, seguindo pelo caminho junto ao alambrado da quadra de tênis, pela qual subia uma trepadeira com flores lilases em forma de estrela. Nos canteiros que ladeavam o caminho, moitas de flores inglesas — flox e esporinha, malva-rosa e petúnias —, ainda não estorricadas pelo sol, competiam em tamanho e abundância. Não havia um gramado, mas uma área plantada com árvores e plantas baixas nativas — flamboyants dourados que lembravam amplos guardachuvas de flores vermelho-sangue, jasmineiros com suas flores sem talo de cor creme, buganvílias púrpura, hibiscos escarlates e a rosa chinesa cor-de-rosa, crótons de verde bilioso, frondes plumosas dos tamarindeiros. O confronto de cores feria os olhos à luz implacável do sol. Um mali quase nu, de regador na mão, deslocava-se em meio àquela selva de flores como se fosse alguma imensa ave sugadora de néctar. Nos degraus da entrada do Clube, um inglês de cabelos cor de areia, com um bigode eriçado, olhos verdes muito claros e afastados um do outro e canelas anormalmente finas, estava de pé com as mãos nos bolsos de suas calças curtas. Era o sr. Westfield, o superintendente de polícia do distrito. Com um ar muito entediado,
balançava-se para a frente e para trás nos calcanhares e projetava de tal modo o lábio superior que seu bigode chegava a lhe fazer cócegas no nariz. Cumprimentou Flory com um ligeiro movimento lateral de cabeça. Tinha um modo de falar entrecortado, à moda militar, que deixava de fora todas as palavras que de fato podiam ser deixadas de fora. Quase tudo que dizia tinha a intenção de fazer graça, mas o tom de sua voz era sempre oco e melancólico. “Alô, Flory, meu rapaz. Linda manhã, não?” “Era de se esperar, nesta época do ano”, respondeu Flory. Virara-se um pouco de lado, para que sua marca de nascença ficasse fora do alcance dos olhos de Westfield. “Isso, isso. E mais uns dois meses pela frente. No ano passado, chuva só em junho. Olhe só o céu, nem um farrapo de nuvem. Parece uma dessas caçarolas esmaltadas de azul. Meu Deus! O que você não daria para estar em Piccadilly agora, hein?” “Os jornais e revistas já chegaram?” “Ah, sim. O Punch, o Financial Times e a Vie Parisienne. Só de lê-los me dá uma tremenda saudade de casa. Vamos entrar e tomar alguma coisa antes que o gelo acabe. O velho Lackersteen está praticamente mergulhado numa banheira cheia de gelo. E já está meio tocado.” Entraram, Westfield tentando pilheriar com voz triste: “Vá na frente, Macduff”. No interior, o Clube tinhas as paredes revestidas de lambri de teca cheirando a óleo mineral e compunha-se apenas de quatro peças, uma das quais continha uma biblioteca improvisada composta de quinhentos romances mofados, e outra uma velha mesa de bilhar com o feltro roído pelas traças — e que, aliás, raramente era usada, porque durante boa parte do ano inumeráveis hordas de besouros entravam voando pelas janelas atraídas pelas luzes e acabavam se amontoando em cima do pano. Havia ainda uma sala para jogos de cartas e mais um “salão”, que dava para uma ampla varanda e de lá para o rio; mas nessa época do ano todas as varandas estavam protegidas por uma cortina de varetas finas de bambu. O salão era pouco acolhedor, com o piso revestido de tapetes de fibra de coco, cadeiras de vime e mesas cobertas de lustrosas revistas ilustradas. Em matéria de decoração, havia uma série de imagens de “Bonzo” penduradas na parede, além de crânios empoeirados de sambhur. Um punkah oscilava preguiçoso, agitando a poeira suspensa no ar morno. Havia três homens no salão. Imediatamente abaixo do punkah, um homem muito vermelho mas de boa aparência, com uns quarenta anos e um pouco inchado, estava debruçado na mesa com a cabeça nas mãos, gemendo de dor. Era o sr. Lackersteen, o gerente local de uma empresa madeireira. Embriagara-se em excesso na noite anterior e agora pagava o preço. Ellis, gerente local de outra companhia, postado diante do quadro de avisos, estudava alguma notícia com ar de amarga concentração. Era um sujeito miúdo de cabelos crespos, com um rosto pálido de traços finos e gestos nervosos. Maxwell, o chefe divisional do Departamento de Florestas, tinha-se
instalado numa das espreguiçadeiras lendo o Field, e estava invisível, exceto pelas pernas de ossatura larga e pelos antebraços grossos e muito peludos. “Olhe só este velho desnaturado”, disse Westfield, passando meio afetuosamente o braço pelos ombros do sr. Lackersteen e sacudindo-o de leve. “Um verdadeiro exemplo para os mais jovens, não é? Seguindo ali pela vontade de Deus, e tudo o mais. Dá uma boa idéia de como vamos todos ficar aos quarenta anos.” O sr. Lackersteen emitiu um gemido que soou como “conhaque”. “Pobre homem”, disse Westfield; “um verdadeiro mártir da bebida em todos os sentidos, não é? E agora ela lhe brota de todos os poros do corpo. Faz lembrar a história do coronel que nunca dormia debaixo do mosquiteiro. Perguntaram ao seu criado por quê, e o homem respondeu: ‘À noite, o coronel está bêbado demais para se importar com os mosquitos; de manhã, são os mosquitos que estão bêbados demais para se importarem com o coronel’. Olhe só para ele — encheu a cara ontem à noite e já está querendo mais. E ainda tem uma bela sobrinha que está vindo morar na casa dele. Chega hoje à noite, não é, Lackersteen?” “Ora, deixem o pobre idiota bêbado em paz”, disse Ellis sem se virar. Tinha uma voz marcada pelo despeito e pelo sotaque cockney. O sr. Lackersteen tornou a grunhir. “... a minha sobrinha! Uma dose de conhaque, pelo amor de Deus.” “Excelente formação para a sobrinha, não acham? Ver o tio enfiado debaixo da mesa, sete dias por semana. — Ei, mordomo! Traga aqui um conhaque para o senhor Lackersteen!” O mordomo, um dravidiano escuro e robusto de olhos aquosos e íris amarelas como as de um cão, trouxe a dose de conhaque numa bandeja de metal. Flory e Westfield pediram gim. O sr. Lackersteen engoliu alguns goles de conhaque e em seguida instalou-se em sua cadeira, grunhindo num tom mais resignado. Tinha um rosto carnudo e inteligente, com um bigode que lembrava uma escova de dentes. Era na verdade um homem bastante simplório, sem nenhuma ambição além do que chamava de “um pouco de diversão”. Sua mulher procurava governá-lo lançando mão do único método possível, ou seja, jamais deixá-lo longe de suas vistas por mais de uma ou duas horas. Só uma vez, um ano depois que se casaram, ela ficara longe dele por quinze dias e voltara de surpresa um dia antes da data marcada; tinha encontrado o sr. Lackersteen totalmente bêbado, escorado em duas jovens birmanesas nuas, uma de cada lado, enquanto uma terceira despejava uma garrafa de uísque em sua boca aberta. Desde então ela o vigiava, como ele costumava se queixar, “como um gato de bote armado na frente da maldita toca do rato”. Ainda assim, ele conseguia “se divertir” com razoável freqüência, embora quase sempre um tanto às pressas. “Meu Deus, como a minha cabeça está doendo hoje”, disse ele. “Torne a chamar o mordomo, Westfield, preciso de mais um conhaque antes que a minha mulher chegue. Ela diz que vai reduzir a minha bebida para quatro doses por dia quando a nossa sobrinha chegar. Que o diabo leve as duas!”, acrescentou em tom sombrio.
“Parem com essas idiotices, todos vocês, e escutem só”, disse Ellis em tom aborrecido. Tinha uma maneira estranhamente ofensiva de falar e quase nunca abria a boca sem insultar alguém. Exagerava de propósito seu sotaque cockney, pelo tom sardônico que conferia às palavras. “Vocês viram só esta mensagem do velho Macgregor? Um presentinho para todos nós. Maxwell, acorde e escute!” Maxwell abaixou o Field. Era um jovem de cabelos louros ainda viçosos, com não mais de vinte e cinco ou vinte e seis anos de idade — jovem demais para o posto que ocupava. Com suas pernas pesadas e os densos cílios brancos, lembrava um filhote de cavalo de puxar carroça. Ellis removeu o papel do quadro de avisos com um gesto preciso e raivoso, e começou a lê-lo em voz alta. Tinha sido afixado ali pelo sr. Macgregor, que, além de vice-comissário, também era secretário do Clube. “Escutem só. ‘Foi sugerido recentemente que, como até agora o Clube não tem nenhum membro oriental e como se tornou costumeira a admissão de funcionários de posição mais importante, tanto nativos quanto europeus, à maioria dos Clubes Europeus, que deveríamos considerar a questão do nosso alinhamento a essa prática aqui em Kyauktada. A questão estará aberta a discussão na próxima assembléia geral. Por um lado, podemos assinalar...’ Bem, nem precisamos ir até o final dessa xaropada. Ele não consegue escrever nem um simples aviso sem sofrer de diarréia literária. De qualquer maneira, a questão é essa. Ele está querendo que quebremos todas as nossas regras, aceitando algum adorável negrinho neste nosso Clube. O querido doutor Veraswami, por exemplo. O doutor Verossuíno, como devia se chamar. Seria mesmo uma beleza, não acham? Um negro de pança redonda soltando seu bafo de alho na nossa cara em volta de mesa de bridge. Meu Deus, imaginem só! Precisamos nos unir e barrar essa idéia de uma vez por todas. O que vocês me dizem? Westfield? Flory?” Westfield encolheu filosoficamente os ombros estreitos. Sentara-se à mesa e acendera um preto e malcheiroso charuto birmanês. “Vamos ter de nos adaptar, eu acho”, disse ele. “Esses nativos de m... estão dando um jeito de entrar em todos os clubes ultimamente. Até no Pegis Club, pelo que me contaram. Do jeito como vão as coisas neste país, sabe como é. Devemos ser o último Clube da Birmânia no qual ‘eles’ ainda não conseguiram entrar.” “Somos mesmo, e mais: vamos continuar com essa bandeira hasteada e agüentando firme. Prefiro morrer à míngua na beira da estrada a ver um negro entrando aqui.” Ellis tirara um toco de lápis do bolso. Com o curioso ar de rancor que alguns homens conseguem estampar nos menores gestos, tornou a prender o aviso no quadro e escreveu a lápis “IDIOTA” ao lado da assinatura de Macgregor. “Pronto, eis o que eu penso da idéia dele. E pretendo comunicar-lhe isso pessoalmente, assim que ele aparecer. O que me diz, Flory?” Flory mantivera-se calado todo o tempo. Embora não fosse lacônico por natureza, poucas vezes encontrava o que dizer nas conversas do Clube. Sentara-se à mesa e
estava lendo o artigo de g. k. Chesterton na London News e ao mesmo tempo afagando a cabeça de Flo com a mão esquerda. Ellis, entretanto, era uma dessas pessoas que costumam importunar os outros para que emitam sua opinião. Repetiu a pergunta, Flory ergueu os olhos e trocaram um olhar. A pele em torno do nariz de Ellis empalideceu tanto de repente que passou a exibir um matiz quase cinzento. Sem nenhuma introdução, prorrompeu numa torrente de impropérios que teria sido espantosa se os outros já não estivessem habituados a ouvir coisa parecida todas as manhãs. “Meu Deus, eu achava que num caso como esse, de negar a permissão para que esses porcos escuros e fedorentos entrem no único lugar onde ainda podemos ficar à vontade, você teria a decência de me dar o devido apoio. Mesmo que o doutorzinho seboso e pançudo seja o seu melhor amiguinho. Não ligo a mínima se você prefere a companhia da ralé do bazar. Se você gosta de freqüentar a casa de Veraswami e beber uísque com a negralhada, o problema é seu. Fora do Clube você pode fazer o que quiser. Mas, meu Deus, é coisa muito diferente quando começam a falar que vamos ter de deixar os negros entrarem aqui. Você deve gostar da idéia de ver Veraswami aqui no Clube, não é? Metendo-se nas conversas, dando palmadinhas nas costas de todo mundo com aquelas mãozinhas suarentas e soltando o maldito bafo de alho na nossa cara. Meu Deus, se um dia ele me aparecer aqui dentro com aquele focinho preto, vai sair daqui com a minha bota enterrada fundo no traseiro. Sujeitinho seboso, pançudo...!” etc. O discurso ainda prosseguiu por vários minutos, e o mais curioso e impressionante é que era totalmente sincero. Ellis odiava de verdade os orientais — e os odiava com um horror intenso e incansável, como se fossem de fato criaturas malévolas ou impuras. Embora vivesse e trabalhasse, como era obrigatório para o assistente de uma empresa madeireira, em contato permanente com os birmaneses, ainda não se acostumara à visão de rostos de pele escura. A menor sugestão de simpatia por um oriental lhe parecia uma perversão horrenda. Era um homem inteligente e funcionário competente de sua empresa, mas um desses ingleses — infelizmente bastante comuns — que deviam ser proibidos de pôr os pés no Oriente. Flory continuou sentado com a cabeça de Flo no colo, incapaz de fitar Ellis nos olhos. Mesmo nos melhores momentos, sua marca de nascença lhe dificultava encarar os outros. E quando se preparou para falar, soube que sua voz haveria de tremer — porque sempre tendia a ficar trêmula quando deveria mostrar-se firme; seu rosto, também, às vezes se contorcia sem controle. “Calma lá”, disse por fim, em tom desanimado e um tanto débil. “Calma lá. Não precisa ficar tão exaltado. Eu nunca sugeri que o Clube devia aceitar membros nativos.” “Ah, não? Mas todo mundo sabe perfeitamente que você bem que gostaria. Por que outro motivo então você vai todas as manhãs à casa desse babu seboso? Senta-se à mesa com ele como se fosse com outro branco, bebe dos mesmos copos que foram
babujados por aqueles lábios imundos de preto... Só de pensar nisso eu quase vomito.” “Sente-se aí, meu amigo, sente-se”, disse Westfield. “Esqueça essa história. Tome alguma coisa. Isso não merece tanta discussão. O calor está forte demais.” “Meu Deus”, disse Ellis num tom um pouco mais calmo, dando um ou dois passos para um lado e para o outro, “meu Deus, eu não entendo vocês dois. Esse velho idiota, Macgregor, está querendo admitir um negro no Clube sem nenhum motivo, e vocês ficam assistindo sentados, sem dizer uma palavra. Santo Deus, o que devíamos estar fazendo neste país? Se não é para comandarmos tudo, por que não vamos embora de uma vez? Estamos aqui, para todos os efeitos, governando um rebanho de malditos porcos negros que vivem como escravos desde que o mundo é mundo; só que, em vez de governá-los da única maneira que eles entendem, agora nós resolvemos tratá-los como iguais. E vocês, uns grandessíssimos idiotas de m..., acham que é assim que deve ser. O nosso Flory aqui escolhe para melhor amigo um babu preto que diz que é médico só porque estudou dois anos numa suposta faculdade indiana. Você, Westfield, todo cheio de si com as suas pernas tortas, vive aceitando suborno de policiais covardes. E Maxwell, que passa o tempo todo atrás das vadias eurasianas. Eu sei muito bem que sim, Maxwell; ouvi falar da sua vida em Mandalay com uma ordinariazinha muito perfumada chamada Molly Pereira. E acho que teria até casado com ela se não tivesse sido transferido para cá, não teria? Pois vocês me dão a impressão de gostar desses animais de pele escura. Meu Deus, não sei o que aconteceu conosco. Realmente não sei.” “Vamos, beba mais alguma coisa”, disse Westfield. “Ei, mordomo! Um pouco de cerveja antes que o gelo acabe, que tal? Mordomo, cerveja!” O mordomo chegou trazendo algumas garrafas de cerveja de Munique. Ellis sentou-se à mesa com os demais e aninhou uma das garrafas frias entre suas mãos pequenas. A testa porejava suor. Ainda estava alterado, mas a raiva passara. Ele era sempre maldoso e perverso, porém seus acessos de raiva mais violenta passavam depressa e ele jamais se desculpava por eles. Discussões acaloradas faziam parte da rotina do Clube. O sr. Lackersteen estava um pouco melhor e estudava as ilustrações de La Vie Parisienne. Passava das nove, e o salão, perfumado pela fumaça acre do charuto de Westfield, fora tomado por um calor sufocante. As camisas de todos colavam-se às costas com a primeira onda de transpiração do dia. O chokra invisível que puxava a corda da punkah do lado de fora tinha adormecido no calor. “Mordomo!”, berrou Ellis e, quando o mordomo apareceu, “vá acordar aquele maldito chokra!” “Sim, senhor!” “E, mordomo!” “Pois não?” “Quanto gelo ainda sobrou?”
“Uns dez quilos, senhor Ellis. Acho que só vai dar para hoje. Estamos tendo muita dificuldade em manter o gelo refrigerado.” “Não fale assim comigo, seu desgraçado. ‘Estamos tendo muita dificuldade’! Por acaso você engoliu um dicionário? ‘Desculpe, não dá pro gelo ficar frio’ — é assim que você devia falar. Vamos ter de nos livrar desse sujeito, se ele continuar insistindo em falar inglês melhor do que devia. Detesto criados que sabem falar inglês. Está me ouvindo, mordomo?” “Sim, senhor”, respondeu o mordomo, e retirou-se. “Meu Deus! Vamos ficar sem gelo até segunda-feira”, disse Westfield. “Você vai voltar para a floresta, Flory?” “Vou, e já devia estar indo para lá. Só entrei para ver o que chegou da Inglaterra no correio.” “Vou viajar um pouco também, acho. Usar uma parte da velha Verba de Viagem. Não consigo ficar no maldito escritório nesta época do ano. Sentado debaixo do maldito punkah, assinando uma folha de papel atrás da outra. Cartas, memorandos. Meu Deus, como eu queria que a Guerra acontecesse de novo!” “Vou viajar depois de amanhã”, disse Ellis. “O desgraçado do capelão não vem celebrar uma cerimônia no domingo? De qualquer maneira, vou tomar os meus cuidados para não estar presente. Não agüento essa história de ficar ajoelhando e levantando toda hora.” “Domingo que vem”, disse Westfield. “Mas eu prometi que estaria presente. E Macgregor também. É um pouco injusto com o pobre capelão, afinal. Ele só vem aqui uma vez a cada seis semanas. Devíamos reunir uma boa congregação toda vez que ele chega.” “Ora, com os diabos! Eu seria capaz de cantar os salmos em prantos para agradar ao padre, mas o que eu não suporto é a maneira como os malditos cristãos nativos se amontoam na nossa igreja. Um bando de criados de Madras e professores de Karen. Sem contar esses dois amarelos, Francis e Samuel, que também se dizem cristãos. Da última vez que o ministro esteve aqui, tiveram o desplante de entrar e se instalar nos bancos das primeiras filas, junto com os brancos. Alguém devia conversar com o padreco sobre isso. A maldita estupidez que nós fizemos, de deixar os missionários agir à vontade neste país! E tudo para ensinar aos varredores de bazar que eles são tão bons quanto nós. ‘Perdão, senhor, eu cristão igual patrão.’ Que absurdo!” “E que tal esse par de pernas?”, perguntou o sr. Lackersteen, passando para os outros o exemplar de La Vie Parisienne. “Você, que sabe francês, Flory; o que está escrito debaixo da fotografia? Meu Deus, isso me lembra a primeira vez que estive em Paris, na minha primeira folga, antes de me casar. Meu Deus, bem que eu gostaria de voltar!” “Você já ouviu os versinhos sobre a jovem de Woking?”, perguntou Maxwell. Ele era um jovem mais para o calado, mas, como qualquer jovem, tinha um apego especial pelos bons versinhos com temas indecentes. Recitou os detalhes biográficos
da jovem dama de Woking, e todos riram. Westfield replicou com a jovem senhora de Ealing, que até tinha um certo feeling, e Flory compareceu com o jovem de Horsham, que sempre tomava suas precauções. Mais risos. Até Ellis descongelou e apresentou vários versos; as piadas de Ellis eram sempre genuinamente engraçadas, mas indecentes além de qualquer limite. Todos se alegraram e sentiram-se mais amigos uns dos outros, apesar do calor. Tinham acabado de tomar a cerveja e estavam a ponto de pedir mais uma bebida quando ouviram o rangido de sapatos nos degraus do lado de fora. Uma voz trovejante, que fez estremecer as tábuas do assoalho, dizia em tom jocoso: “Sim, de um humor muito especial. Incorporei a história num dos artiguetes que escrevo para a Blackwood’s, sabia? E me lembro também de que, quando estava em Prome, ocorreu outro incidente muito, ah... interessante que...” Evidentemente o sr. Macgregor tinha chegado ao Clube. E o sr. Lackersteen exclamou: “Que diabo! Minha mulher está aí”, e empurrou seu copo vazio para o mais longe de si que pôde. O sr. Macgregor e a sra. Lackersteen entraram juntos no salão. O sr. Macgregor era um homem alto e pesado de quase cinqüenta anos, com um rosto bondoso e achatado e óculos de aro de ouro. Seus ombros maciços e o cacoete que tinha de projetar a cabeça para a frente evocavam curiosamente uma tartaruga — os birmaneses, na verdade, tinham-lhe posto o apelido de “o Cágado”. Vestia um terno limpo de seda, que já exibia manchas de suor debaixo das axilas. Cumprimentou os demais com uma pseudocontinência bem-humorada e depois plantou-se diante do quadro de avisos, satisfeito, na atitude de um professor primário que brandia a vara de marmelo atrás das costas. O bom humor de sua expressão era autêntico, entretanto ele exibia uma tamanha aura de simpatia forçada, um tal esforço visível para mostrar-se relaxado e esquecido de sua posição oficial, que ninguém nunca ficava totalmente à vontade em sua presença. Tudo indicava que sua maneira de conversar seguia o padrão de comportamento de algum professor ou religioso especialmente engraçado que ele tinha conhecido em algum momento da vida. Para o seu espírito, qualquer palavra mais longa, qualquer citação, qualquer expressão proverbial funcionava como piada, e era sempre introduzida por uma espécie de zumbido, um som entre “ahn” ou “han”, para deixar bem claro que o que vinha a seguir era um gracejo. A sra. Lackersteen teria uns trinta e cinco anos e era vistosa de um modo alongado e desprovido de contornos, como uma ilustração de moda. Tinha uma voz descontente e cheia de suspiros. Todos os presentes se levantaram quando ela entrou, e a sra. Lackersteen desabou exausta na melhor poltrona situada bem abaixo do punkah, abanando-se com a mãozinha fina como a de uma salamandra. “Ah, meu Deus, que calor, que calor! O senhor Macgregor foi me buscar em casa no seu carro. Uma enorme gentileza. Tom, aquele terrível puxador de riquixá está se
fingindo de doente de novo. Acho que você devia lhe passar uma boa repreensão, para ver se ele toma juízo. É terrível ter de caminhar todo dia debaixo deste sol.” A sra. Lackersteen, incapaz de percorrer a pé os menos de quinhentos metros que separavam sua casa do Clube, tinha importado um riquixá de Rangoon. Além dos carros de boi e do automóvel do sr. Macgregor, era o único veículo sobre rodas de Kyauktada, porque o distrito, no total, contava com apenas dezesseis quilômetros de estradas. Na floresta, para não deixar seu marido a sós, a sra. Lackersteen se expunha a todos aqueles horrores de tendas que vazavam, mosquitos e comida enlatada; mas compensava a proeza dedicando-se a reclamar de ninharias sempre que voltava para o quartel-general. “Acho que a preguiça desses criados está ficando chocante”, suspirou ela. “Não concorda, senhor Macgregor? Já não temos a mesma autoridade sobre os nativos, com todas essas terríveis Reformas e com a insolência que eles aprendem lendo os jornais. De certa maneira, eles estão adquirindo modos quase tão intoleráveis quanto os das classes inferiores da Inglaterra.” “Ah, acho que eles não chegam a tanto. Mas, infelizmente, não há dúvida de que o espírito democrático está se insinuando, até mesmo aqui.” “E pensar que não faz muito tempo, até mesmo pouco antes da Guerra, eles ainda eram tão gentis e respeitadores! Faziam reverências quando passávamos por eles — um encanto. Ainda me lembro da época em que pagávamos só doze rupias por mês ao nosso mordomo — e aquele homem nos amava como um cão. Hoje eles pedem quarenta, cinqüenta rupias, e estou vendo que a única maneira de conservar um criado é pagar vários meses de salário adiantados.” “Os criados do tipo antigo estão desaparecendo”, concordou o sr. Macgregor. “Quando eu era jovem, cada vez que o mordomo nos faltava com o respeito, podíamos mandá-lo para a cadeia com um bilhete que dizia: ‘Tenham a bondade de aplicar quinze chibatadas no portador’. Ah, enfim, eheu fugaces! Infelizmente, acho que esses tempos não voltam mais!” “Ah, nisso o senhor tem razão”, disse Westfield com seu tom melancólico. “Este país nunca mais vai servir para se viver. O Raj Britânico chegou ao fim da linha, se querem saber o que eu acho. Domínio Perdido, e essa coisa toda. Está mais do que na hora de sairmos daqui.” Ao que se ouviram murmúrios de concordância de todos os presentes, até mesmo de Flory, notoriamente um bolchevique em matéria política, e até do jovem Maxwell, que mal tinha passado três anos nas colônias. Nenhum anglo-indiano iria negar que a Índia estava dando com os burros n’água, ou nem nunca negou — porque a Índia, como a Punch, não era mais o que tinha sido. Enquanto isso, Ellis tinha despregado o aviso ofensivo do quadro às costas de Macgregor e agora lhe estendia o papel, dizendo com seu jeito hostil: “Tome, Macgregor, acabamos de ler este seu aviso, e todos aqui achamos que essa idéia de admitir um nativo no Clube é de uma perfeita...”. Ellis pensou em dizer “de
uma perfeita estupidez”, mas lembrou-se da presença da sra. Lackersteen e se conteve: “É perfeitamente inoportuna. Afinal, este Clube é um lugar aonde sempre viemos para nos divertir, e não queremos nenhum nativo bisbilhotando por aqui. Gostamos de saber que ainda existe um lugar onde nos vemos livres deles. E os outros estão de pleno acordo comigo”. E correu os olhos em volta. “Apoiado!”, disse o sr. Lackersteen, de mau humor. Sabia que sua mulher iria perceber que ele tinha bebido, e julgou que aquela manifestação dos sentimentos corretos talvez pudesse desculpá-lo. O sr. Macgregor, sorridente, pegou o aviso. Viu o “IDIOTA” acrescentado a lápis ao lado de seu nome e pensou consigo que os modos de Ellis eram muito desrespeitosos, mas resolveu deixar o assunto de lado com um gracejo. Fazia um esforço tão intenso para se apresentar como um bom sujeito no Clube quanto para se comportar com a dignidade que seu cargo exigia no horário de trabalho. “Quero crer então”, disse, “que o nosso amigo Ellis não aprecia a companhia dos seus irmãos, ahn... arianos?” “Não, não aprecio mesmo”, disse Ellis em tom azedo. “Nem dos meus irmãos mongóis. Em resumo, não gosto de nenhum tipo de negro.” O sr. Macgregor crispou-se ao ouvir a palavra “negro”, cujo uso era desestimulado na Índia. Não tinha preconceito contra os orientais; na verdade, gostava muito deles. Contanto que não gozassem de muita liberdade, ele os achava as pessoas mais encantadoras do mundo. Sempre se sentia incomodado ao vê-los insultados gratuitamente. “Será mesmo boa política”, respondeu ele, rígido, “chamar essas pessoas de ‘negros’, um termo que elas acham ofensivo porque obviamente não têm nada de negros? Os birmaneses são mongóis, os indianos são arianos ou dravidianos, e todos eles são muitíssimo diferentes dos...” “Ora, dane-se!”, disse Ellis, que não se impressionava nem um pouco com a posição oficial do sr. Macgregor. “O senhor pode chamá-los de arianos, de negros ou do que quiser. O que eu estou dizendo é que não quero ver nenhuma cara preta neste Clube. Se o senhor convocar uma votação sobre a matéria, vai ver que somos todos contrários a isso, sem exceção — a menos que Flory se disponha a defender a entrada do seu querido amigo Veraswami”, acrescentou. “Apoiado!” repetiu o sr. Lackersteen. “Por mim, é bola preta para todos eles!” O sr. Macgregor franziu os lábios com um ar um tanto cômico. Estava numa posição desconfortável, porque a idéia de admitir um membro nativo não fora exatamente sua, mas passada pelo comissário. No entanto, achava desagradável ter de pedir desculpas, de maneira que disse num tom mais conciliatório: “Vamos adiar esse debate até a próxima assembléia geral? Enquanto isso, podemos pensar com calma no assunto. E agora”, acrescentou, dirigindo-se à mesa, “quem aceita dividir comigo algum, ah... refrigério líquido?”
O mordomo foi chamado e pediram “refrigérios líquidos”. Fazia mais calor do que nunca, e todos sentiam muita sede. O sr. Lackersteen estava a ponto de pedir uma bebida quando encontrou os olhos da mulher, encolheu-se e com ar triste disse “Não”. Ficou sentado com as mãos apoiadas nos joelhos e uma expressão patética no rosto, olhando a sra. Lackersteen tomar um copo de limonada com gim. O sr. Macgregor, embora tenha assinado a conta da rodada, tomou limonada pura. Era o único dos europeus de Kyauktada a observar a regra de só começar a beber depois que o sol se punha. “Está tudo muito bem”, resmungou Ellis com os antebraços apoiados na mesa, brincando com o copo. A discussão com o sr. Macgregor voltara a agitá-lo. “Está tudo muito bem, mas mantenho o que disse. Nada de nativos no Clube! Foi por sempre cedermos em coisas pequenas como essa que arruinamos o Império. Este país só está apodrecido pela revolta porque adotamos um tratamento suave demais com o povo daqui. A única maneira certa de agir é tratá-los como o lixo que eles são. Vivemos um momento crítico e precisamos de todo o prestígio que pudermos conseguir. Devemos nos manter unidos e dizer: ‘Nós somos os senhores e vocês, seus desgraçados...’” E Ellis pressionou com força o tampo da mesa com a ponta de seu polegar miúdo, como se esmagasse um inseto... “‘vocês que fiquem no seu lugar!’.” “Não adianta, meu amigo”, disse Westfield. “Nós não conseguimos. E o que podemos fazer, com tanta burocracia para atrapalhar? Os miseráveis conhecem a lei melhor do que nós. São capazes de insultá-lo na sua cara e depois sair correndo para denunciá-lo no momento em que você reagir. A única maneira de lidar com eles é fincar o pé. Mas como é que podemos mostrar firmeza, se eles não têm coragem de reagir?” “Nosso burra sahib em Mandalay sempre dizia”, interveio a sra. Lackersteen, “que no final vamos simplesmente ter de ir embora da Índia. Nenhum jovem inglês quer mais vir para cá trabalhar a vida inteira, submetido a insultos e à ingratidão dessa gente. Devíamos mesmo ir embora. E quando os nativos viessem nos implorar para ficarmos, diríamos: ‘Não, nós lhes demos uma oportunidade e vocês não aproveitaram. Pois muito bem, agora vocês mesmos que tratem de se governar’. Que lição para essa gente!” “O que acabou mesmo conosco foi todo esse apego à lei e à ordem”, acrescentou Westfield em tom sombrio. A ruína do Império Indiano devido ao excesso de respeito à lei era um tema recorrente de Westfield. Segundo ele, nada menos que uma rebelião em larga escala, sucedida pela conseqüente proclamação da lei marcial, poderia salvar o Império do declínio. “Toda essa papelada, todos esses memorandos. Os verdadeiros governantes deste país são os babus de gabinete. Nosso tempo acabou. A melhor coisa que podemos fazer é mesmo fechar tudo e deixar que eles experimentem um pouco do próprio veneno.” “Não concordo, simplesmente não concordo”, disse Ellis. “Podíamos endireitar as
coisas num mês, se quiséssemos. Só precisamos de alguns tostões de coragem. Vejam só o que aconteceu em Amritsar. Como eles cederam depois daquilo. Dyer, sim, sabia lidar com eles. Pobre Dyer! Que sujeira fizeram com o homem. Aqueles covardes na Inglaterra precisavam prestar contas daquilo.” Os demais emitiram uma espécie de suspiro, o mesmo tipo de suspiro que uma congregação católica emitiria ante a menção do nome de Maria, a Sangrenta. Mesmo Macgregor, que tinha horror a derramamento de sangue e à lei marcial, sacudiu a cabeça quando o nome de Dyer foi citado. “Ah, pobre homem! Sacrificado aos liberais do Parlamento. Bem, talvez eles ainda descubram que cometeram um erro terrível, mas então será tarde demais.” “Meu antigo governador contava uma história sobre isso”, disse Westfield. “Havia um velho havildar num regimento nativo, e alguém lhe perguntou o que aconteceria se os ingleses fossem embora da Índia. E o sujeito respondeu...” Flory empurrou sua cadeira para trás e se pôs de pé. Não podia, não devia — não, simplesmente não conseguia mais agüentar aquela conversa! Precisava sair logo daquela sala, antes que alguma coisa acontecesse dentro de sua cabeça e ele começasse a destruir os móveis e atirar garrafas nos quadros. Aqueles porcos imbecis, bêbados e de cabeça oca! Será que eles nunca iriam parar, semana após semana, ano após ano, de repetir as mesmas baboseiras malignas, palavra por palavra, como a paródia de um conto de quinta categoria publicado na revista Blackwood’s? Será que nunca passaria pela cabeça de um deles alguma coisa diferente para dizer? Ah, que lugar, que gente aquela! Que civilização a nossa, uma civilização sem Deus, baseada no uísque, na Blackwood’s e na caricatura! Deus tenha piedade de nós, porque todos fazemos parte dela. Flory não falou nada disso em voz alta e precisou fazer um certo esforço para não deixar que nada daquilo transparecesse em seu rosto. Postou-se de pé junto a sua cadeira, um pouco de lado para os demais, ostentando o meio-sorriso de um homem que nunca está muito seguro de sua popularidade. “É uma pena, mas preciso ir embora”, disse. “Tenho de cuidar de algumas coisas ainda antes do café-da-manhã, infelizmente.” “Fique e tome mais uma dose, meu amigo”, convidou Westfield. “Ainda é cedo. Tome um gim. Para abrir o apetite.” “Não, obrigado, preciso mesmo ir. Vamos, Flo. Até logo, senhora Lackersteen. Até logo para todos.” “E lá se vai Booker Washington, o bom amigo dos negros”, disse Ellis quando Flory desapareceu. Era garantido que Ellis sempre desse um jeito de fazer algum comentário desagradável sobre qualquer pessoa que acabasse de sair da sala. “Deve ter ido ver o Verossuíno. Ou então resolveu se retirar de campo para evitar de pagar a próxima rodada.” “Ah, até que ele não é mau sujeito”, disse Westfield. “De vez em quando faz uns
comentários meio bolcheviques. Mas acho que não acredita nem na metade deles.” “Ah, muito bom sujeito, é claro”, concordou o sr. Macgregor. Todo europeu na Índia era, ex officio, ou melhor, ex colore, um bom sujeito até proceder de alguma maneira absurda. Era uma posição honorária. “Ele só é um pouco bolchevique demais para o meu gosto. Não suporto quem vira amigo dos nativos. E eu nem me espantaria muito se descobrisse que ele também tem lá uma certa dose de sangue mais escuro. Isso talvez explicasse aquela mancha preta no rosto dele: é que ele saiu malhado. E até parece um pouco um amarelo, com aquele cabelo preto e a pele cor de limão.” Houve alguma reação falsamente indignida em defesa de Flory, mas não muita, porque o sr. Macgregor não gostava de gestos de indignação. Os europeus permaneceram no Clube tempo suficiente para mais uma rodada de bebidas. O sr. Macgregor contou o episódio ocorrido na cidade de Prome, que podia ser apresentado em quase qualquer contexto. E em seguida a conversa tornou a versar sobre o velho tema de sempre, que nunca deixava de interessá-los — a insolência dos nativos, a extrema condescendência do governo, os bons velhos tempos quando o Raj Britânico era o Raj Britânico e, por favor, queiram aplicar quinze vergastadas no portador. Era um tópico que nunca passava muito tempo esquecido, em parte por causa da obsessão de Ellis. Além disso, era até possível perdoar um tanto do amargor dos europeus. Viver e trabalhar cercado de orientais era um verdadeiro desafio até para a paciência de um santo. E todos eles, especialmente os funcionários do governo, sabiam bem o que era ser alvo de provocações e insultos. Quase todos os dias, quando Westfield ou Macgregor, ou mesmo Maxwell, caminhavam pela rua, os rapazes da escola secundária, com o rosto jovem e amarelo — rostos lisos como moedas de ouro, dominados por aquele desprezo enlouquecedor que é uma expressão tão fácil para um rosto da raça mongol —, encaravam-nos com um ar hostil quando passavam, e às vezes ainda os perseguiam pelas ruas com vaias ou imitando o riso da hiena. A vida dos funcionários anglo-indianos não era nada fácil. Nos acampamentos sem conforto, nos escritórios sufocantes, em sombrios bangalôs provisórios que cheiravam a poeira e querosene, eles adquiriam, talvez, um certo direito de se mostrar desagradáveis. Já eram quase dez da manhã, e o calor ficara insuportável. Gotas largas e claras de suor se acumulavam no rosto de todos e nos braços nus dos homens. Uma grande mancha úmida crescia cada vez mais nas costas do paletó de seda do sr. Macgregor. A claridade intensa do lado de fora parecia atravessar de algum modo as persianas verdes das janelas, ferindo os olhos e produzindo uma sensação de cabeça pesada. Todos pensavam com desconforto no indigesto café-da-manhã que tinham pela frente e nas horas longas e mortas que estavam por vir. O sr. Macgregor levantou-se com um suspiro e ajustou os óculos, que tinham escorregado pelo nariz suado. “Pena que uma reunião festiva como esta precise chegar ao fim”, disse. “Está na minha hora de passar em casa para o café-da-manhã. As obrigações do Império.
Alguém vai na mesma direção? Meu motorista está esperando com o carro.” “Ah, obrigada”, disse a sra. Lackersteen. “Se o senhor puder levar a Tom e a mim. É um alívio não precisar caminhar muito neste calor!” Os demais se levantaram. Westfield espreguiçou-se e bocejou sem abrir a boca. “Melhor me pôr logo em movimento. Se eu ficar mais algum tempo sentado aqui, acabo dormindo. Só de pensar em passar o dia assando naquele escritório! Pilhas e mais pilhas de papelada. Deus do céu!” “Não esqueçam do jogo de tênis no fim da tarde”, disse Ellis. “Maxwell, seu preguiçoso, não vá fugir do jogo outra vez. Faça-me o favor de aparecer aqui com a sua raquete às quatro e meia em ponto.” “Après vous, madame”, disse o sr. Macgregor em tom galante diante da porta. “Vá na frente, Macduff”, disse Westfield. Todos saíram para o brilho cegante da luz branca do sol. O calor emanava da terra como o bafo de um forno. As flores, opressivas aos olhos, torravam ao ardor excessivo do sol sem mover uma pétala. A claridade intensa chegava a provocar um cansaço nos ossos. Havia algo de horrível naquilo — era horrível imaginar que aquele céu azul cegante se estendia por sobre toda a Birmânia e mais a Índia, sobre o Sião, o Camboja, a China, sem nuvens, interminável. As partes metálicas do carro do sr. Macgregor, que ficara à sua espera do lado de fora, queimavam ao toque. A pior hora do dia estava começando, a hora, como dizem os birmaneses, “em que os pés se calam”. Quase nenhuma criatura viva se movimentava, além dos homens e das colunas negras de formigas em marcha que, estimuladas pelo calor, se estendiam como fitas de um lado ao outro do caminho, e dos abutres sem rabo que descreviam seus círculos sustentados pelas correntes de ar.
*
3.
Flory virou à esquerda ao deixar o portão do Clube e começou a descer o caminho do bazar, à sombra das figueiras-dos-pagodes. Ouvia-se um torvelinho de música, vinda de um ponto a uns cem metros dali, onde uma esquadra de policiais militares, indianos magros vestidos de cáqui esverdeado, marchava de volta ao alojamento tendo à frente um jovem gurkha que tocava uma gaita-de-foles. Flory ia ao encontro do dr. Veraswami. A casa do médico era um bangalô comprido de madeira impregnada de querosene, apoiada em estacas, com um grande jardim malcuidado que fazia divisa com o do Clube. Os fundos da casa davam para a rua, para a frente do hospital, que ficava entre ela e o rio. Quando Flory entrou, ouviu um grito assustado das mulheres e passos correndo pela casa. Evidentemente, deixara de ver a mulher do médico por pouco. Fez a volta até a frente da casa e gritou para a varanda: “Doutor! Está ocupado? Posso entrar?” O médico, uma figura miúda em preto-e-branco, brotou do interior da casa como um boneco de mola. E correu até a balaustrada da varanda, exclamando, efusivo: “O senhor pode entrar! Claro, claro, entre logo! Ah, senhor Flory, que prazer ver o senhor! Entre, entre. O que quer tomar? Tenho uísque, cerveja, vermute e outras bebidas européias. Ah, meu caro amigo, como venho sentindo falta de uma conversa mais cultivada!” O médico era um homenzinho preto e rechonchudo, com cabelos espetados e olhos redondos e crédulos. Usava óculos de armação de aço e vestia um conjunto branco de corte ruim, cujas calças se dobravam como o fole de um acordeom por sobre pesadas botas pretas. Sua voz era ansiosa e borbulhante, e pronunciava a letra s com um som muito sibilante. Quando Flory subiu os degraus, o médico recuou até o fundo da varanda e remexeu numa grande arca de metal, da qual tirou garrafas de todo tipo com grande velocidade. A varanda era ampla e sombreada, com beirais baixos dos quais pendiam vasos de samambaias que lhe davam a aparência de uma caverna escondida da luz do sol por uma cascata. Era mobiliada com cadeiras de assento de vime feitas na prisão, e numa das extremidades havia uma estante contendo uma pequena biblioteca nada atraente, composta principalmente de livros de ensaios, do tipo Emerson-Carlyle-Stevenson. O médico era um grande leitor e apreciava livros que tinham, como dizia, um “sentido moral”. “E então, doutor”, disse Flory. Enquanto isso, o médico o instalara numa espreguiçadeira, armando o descanso para os pés a fim de que ele pudesse se esticar, e pusera cigarros e cerveja ao seu alcance. “E então, doutor, como vão as coisas? E como vai a Coroa Britânica? Sofrendo da mesma paralisia de sempre?” “Ah, senhor Flory, ela vai indo muito mal, muito mal! Agora começaram as complicações mais graves. Septicemia, peritonite e paralisia dos gânglios. Infelizmente, vamos precisar de um especialista. Ah!”
Era uma brincadeira comum entre os dois, falar do Império Britânico como se fosse uma velha paciente do médico. Fazia dois anos que eles se divertiam com a piada, de que nunca se cansavam. “Ah, doutor”, disse Flory, largado na espreguiçadeira, “que alegria estar aqui depois daquele maldito Clube. Quando eu chego à sua casa, me sinto como um ministro não-conformista que, em vez de voltar à cidade, resolve levar uma vadia para casa. É um privilégio tirar férias deles” — e apontou com um dos pés na direção do Clube —, “dos meus adorados companheiros de construção do Império. O prestígio britânico, o fardo do homem branco, o pukka sahib sans peur et sans reproche, sabe como é. É um enorme alívio estar livre do mau cheiro disso tudo por algum tempo.” “Meu amigo, meu amigo, ora, ora, por favor! Isso é um absurdo. O senhor não devia dizer essas coisas de honrados cavalheiros ingleses!” “É que o senhor nunca é obrigado a ouvir o que dizem os honrados cavalheiros ingleses, doutor. Agüentei o quanto pude hoje de manhã. Ellis, que não pára de falar em ‘negros imundos’, Westfield com suas piadinhas, Macgregor com suas expressões em latim e favor aplicar quinze chibatadas no portador. Mas quando eles chegaram àquela história do velho havildar — sabe qual é, a do velho havildar que dizia que, se os ingleses saíssem da Índia, não sobraria uma rupia ou uma virgem sequer no país — sabe qual é. Bem, eu não agüentei mais. Já era tempo de terem aposentado o velho havildar. Ele vem dizendo a mesma coisa desde o Jubileu de 1887...” O médico ficou agitado, como sempre ocorria quando Flory falava mal dos membros do Clube. Apoiara na balaustrada seu vasto traseiro vestido de branco, e às vezes gesticulava. Quando procurava uma palavra, apertava a ponta do polegar contra a do indicador, como se tentasse capturar uma idéia que esvoaçasse no ar. “Mas para dizer bem a verdade, senhor Flory, o senhor não devia falar assim! Por que o senhor sempre reclama dos pukka sahibs, como diz o senhor? Eles são o sal da terra. Pense só nas coisas grandiosas que fizeram — nos grandes administradores que transformaram a Índia britânica no que ela é hoje. Pense em Clive, em Warren Hastings, em Dalhousie, em Curzon. Foram homens de uma espécie — e cito aqui o seu imortal Shakespeare — que, no fim das contas, nunca mais tornaremos a ver igual!” “Bem, e o senhor quer mesmo tornar a ver gente igual? Eu, pelo meu lado, prefiro evitar.” “E lembre-se de como o cavalheiro inglês é um tipo nobre! A lealdade gloriosa que cultivam entre si! O espírito das grandes escolas inglesas! E mesmo os poucos deles que têm modos menos felizes — alguns ingleses são arrogantes, admito — têm as qualidades grandes e valiosas que faltam a nós, os orientais. Por baixo da sua aparência rude, eles têm um coração de ouro.” “Folheado a ouro falso, melhor dizer. Existe uma espécie de camaradagem espúria
entre os ingleses e este país. É uma tradição bebermos juntos, compartilhar refeições e fingir que somos amigos, embora todos odiemos uns aos outros com todas as forças. Passar o tempo juntos, é como falamos. Trata-se de uma necessidade política. Claro que é o álcool que mantém essa máquina em funcionamento. Não fosse por ele, todos enlouqueceríamos e sairíamos matando uns aos outros em uma semana. Eis aí um bom tema para os seus elevados ensaístas, doutor. O álcool como o cimento do Império.” O médico abanou a cabeça. “Francamente, senhor Flory, não sei o que deixou o senhor tão cínico. É uma coisa que não lhe cai bem! O senhor, um cavalheiro inglês de grandes talentos e ótimo caráter, emitindo opiniões sediciosas dignas do Patriota Birmanês!” “Sediciosas?”, questionou Flory. “Não sou eu que sou sedicioso. Não sou eu quem quer que os birmaneses nos expulsem deste país. Deus permita que não! Estou aqui para ganhar dinheiro, como todos os outros. O que me incomoda é essa bobajada untuosa de fardo do homem branco. A pose de pukka sahib. É tão maçante. Até mesmo esses malditos idiotas do Clube podiam ser uma boa companhia se não precisássemos viver essa mentira o tempo todo.” “Mas, meu bom amigo, qual é a mentira que vocês estão vivendo?” “Ora, é óbvio, a mentira de que só estamos aqui para melhorar a vida dos nossos pobres irmãozinhos negros, e não para roubar o que eles possuem. Acho que é até uma mentira natural. Mas ela nos corrompe, e nos corrompe de maneiras que o senhor nem pode imaginar. Cada um de nós vive com a permanente sensação de que é um mentiroso e um traidor; ela nos atormenta e nos obriga a procurarmos justificativas dia e noite. E é ela que explica em boa parte a nossa violência para com os nativos. Nós, os anglo-indianos, podíamos ser quase suportáveis se pelo menos admitíssemos que somos ladrões e continuássemos a roubar, mas sem toda essa impostura.” O médico, muito satisfeito, apertou a ponta do polegar contra a do indicador. “O ponto fraco do seu argumento, meu caro amigo”, disse ele, encantado com sua própria ironia, “o ponto fraco me parece ser que vocês, no fim das contas, não são ladrões.” “Ora, meu bom doutor...” Flory endireitou-se na espreguiçadeira, em parte porque o calor acabara de apunhalá-lo nas costas como milhares de agulhas, em parte porque chegara o momento de enveredar pela discussão que mais gostava de ter com o médico. Essa discussão, de natureza vagamente política, ocorria toda vez que os dois se encontravam. Era uma discussão meio invertida, porque o inglês se mostrava amargamente antibritânico e o indiano, de uma lealdade fanática ao Império. O dr. Veraswami tinha uma admiração apaixonada pelos ingleses, inabalada pelos milhares de vezes que fora humilhado por eles. Defendia, com um empenho
acentuado, que ele, na qualidade de indiano, pertencia a uma raça inferior e degenerada. Sua fé na Justiça britânica era tamanha que mesmo quando, na cadeia, ele surpreendia um açoitamento ou um enforcamento, e voltava para casa com o rosto negro desbotado num tom de cinza e se receitava uma dose de uísque, seu fervor não se abalava. As opiniões sediciosas de Flory o chocavam, mas também lhe davam um certo prazer secreto, como aquele que o religioso devoto sente ao ouvir o pai-nosso recitado de trás para a frente. “Meu caro doutor”, disse Flory, “como é que o senhor deduz que estamos neste país para alguma finalidade que não o roubo? É tão evidente. Os funcionários do governo seguram os birmaneses enquanto os negociantes vasculham seus bolsos. O senhor acha que a minha firma, por exemplo, poderia conseguir seus contratos de extração de madeira se o país não se encontrasse em mãos britânicas? Ou as outras firmas madeireiras, ou as companhias de petróleo, ou as empresas de mineração, os donos das plantações de chá e os comerciantes? Como é que o Cartel do Arroz poderia continuar esfolando o infeliz camponês, se não tivesse o apoio do governo? O Império Britânico não passa de um meio de assegurar os monopólios comerciais para os ingleses — ou melhor, para as quadrilhas de judeus e escoceses.” “Meu amigo, é patético ouvi-lo falar dessa maneira. Realmente patético. Está querendo me dizer que vocês, ingleses, só estão aqui para fazer negócios? Mas é claro que sim! E os birmaneses por acaso conseguiriam fazer negócios por conta própria? Saberiam construir máquinas, navios, ferrovias, estradas? Eles não podem nada sem vocês. O que aconteceria às florestas da Birmânia se os ingleses não estivessem aqui? Seriam imediatamente vendidas para os japoneses, que arrancariam tudo de uma vez e deixariam a terra arrasada. Em vez disso, nas mãos dos ingleses, elas acabam até melhorando. E enquanto os empresários ingleses desenvolvem os recursos do nosso país, os funcionários do governo britânico nos civilizam, nos elevam ao nível deles, por puro espírito público. É uma história magnífica de auto-sacrifício.” “Francamente, meu caro doutor. É bem verdade que ensinamos os jovens a tomar uísque e a jogar futebol, mas muito pouco além disso. Olhe para as nossas escolas — verdadeiras fábricas de escreventes baratos. Nunca ensinamos um único ofício manual útil aos indianos. Não nos atrevemos a tanto; temos medo de que surja competição para a nossa indústria. Chegamos ao ponto de esmagar as várias indústrias locais. Onde estão as musselinas indianas? Na década de 1840, mais ou menos, grandes navios eram construídos na Índia e faziam-se grandes viagens. Hoje você não consegue construir aqui nem um barco de pesca capaz de se afastar um pouco mais da costa. No século XVIII, os indianos forjavam canhões de qualidade igual à das melhores armas européias. Hoje, ao final de cento e cinqüenta anos da nossa presença na Índia, vocês não conseguem produzir nem um mísero cartucho de cobre em todo o continente. As únicas raças orientais que se desenvolveram com uma certa velocidade são as independentes. Nem vou citar o Japão, mas basta olhar
para o Sião...” O médico agitou a mão, nervoso. Ele sempre interrompia a discussão nesse ponto (geralmente ela seguia o mesmo curso invariável, quase palavra a palavra), pois o caso do Sião o incomodava. “Meu amigo, meu amigo, o senhor está esquecendo o caráter oriental. Como é que poderíamos ter-nos desenvolvido, com toda a nossa apatia e superstição? Pelo menos vocês nos trouxeram a lei e a ordem. A inabalável Justiça Britânica, e a Pax Britannica.” “Paz? As pás do coveiro, as doenças, a varíola britânica. E de qualquer maneira, paz para quem? Para o agiota e o advogado. Claro que mantemos a paz na Índia, em nosso próprio interesse, mas a que se reduz essa história de lei e ordem, no fim das contas? Mais bancos e mais prisões — só isso.” “Que caricatura monstruosa!”, exclamou o médico. “As prisões, afinal, não são necessárias? E foram só prisões que vocês nos trouxeram? Lembre-se da Birmânia nos dias de Thibau, o último rei, com a sujeira, a tortura e a ignorância, e agora olhe em volta. Basta olhar daqui mesmo desta varanda — olhe só para esse hospital, e ali, à direita, aquela escola, e a delegacia de polícia. Veja a marcha do progresso moderno!” “Claro, não vou negar”, respondeu Flory, “que sob alguns aspectos modernizamos este país. E nem poderia ser de outro modo. Na verdade, antes de irmos embora teremos destruído toda a cultura nacional birmanesa. Mas não civilizamos ninguém, só esfregamos a nossa sujeira na cara do povo daqui. Aonde vai levar, essa marcha do progresso moderno, como o senhor diz? No máximo, vai chegar à nossa bem conhecida porcaria, feita de gramofones e gorros de feltro. Às vezes eu acho que daqui a duzentos anos tudo isso...”, e apontou para o horizonte com um dos pés, “tudo isso terá desaparecido — florestas, aldeias, mosteiros, pagodes, tudo desaparecido. E no lugar disso tudo, teremos casas cor-de-rosa a cinqüenta metros uma da outra; por todas essas montanhas, até onde a vista alcança, casas e mais casas, em que todos os gramofones estarão tocando a mesma canção. E todas as florestas arrasadas — transformadas em polpa de madeira para imprimir a News of the World, ou serradas para fabricar móveis e estojos de gramofone. Mas as árvores acabam se vingando, como diz aquele velho no Pato Selvagem. O senhor decerto leu Ibsen.” “Ah, não, senhor Flory, infelizmente, não. Esse gênio poderoso, como foi chamado pelo seu inspirado Bernard Shaw. É um prazer que ainda terei. Mas, meu amigo, o que o senhor não vê é que mesmo o pior da sua civilização, para nós, representa um avanço. Gramofones, gorros de feltro, a News of the World — tudo isso é melhor que a preguiça horrenda do oriental. Eu vejo os britânicos, mesmo os menos inspirados, como... como...” O médico procurou uma expressão e encontrou uma que devia vir de Stevenson: “Como tocheiros iluminando o caminho do
progresso”. “Mas eu não. Vejo os ingleses como uma espécie de piolho, só que atualizado, higiênico, satisfeito consigo mesmo. Uma praga que se alastra pelo mundo, construindo prisões. Constroem uma prisão e dizem que é isso o progresso”, acrescentou com tristeza — porque o médico não reconheceu a alusão. “Meu amigo, o senhor está cometendo um claro exagero em relação às prisões! Lembre-se de que os seus compatriotas também produziram outras obras. Eles constroem estradas, irrigam desertos, debelam a fome, erguem escolas, criam hospitais, combatem a peste, a cólera, a lepra, a varíola, as doenças venéreas...” “Que eles próprios trouxeram”, acrescentou Flory. “Nada disso!”, replicou o médico, ansioso por reivindicar o crédito para seus próprios concidadãos. “Não, senhor, foram os indianos que introduziram as doenças venéreas neste país. Os indianos introduzem as doenças e os ingleses curam. É essa a resposta ao seu pessimismo e aos seus argumentos sediciosos.” “Bem, doutor, nós nunca haveremos de concordar. O fato é que o senhor gosta de toda essa história de progresso moderno, enquanto eu prefiro ver as coisas de uma forma um pouco mais séptica. A Birmânia no tempo de Thibau me agradaria mais, acho. E, como eu já disse antes, se somos uma influência civilizadora é só na intenção de nos apoderarmos de mais riqueza, em maior escala. Largaríamos isso tudo na mesma hora, se não desse mais lucro.” “Meu amigo, não é assim que o senhor pensa. Se o senhor realmente reprovasse o Império Britânico, não estaria falando sobre isso aqui, em particular. Estaria protestanto do alto do telhado das casas. Eu conheço o seu caráter, senhor Flory, melhor que o senhor mesmo.” “Sinto muito, doutor; não sou do tipo que protesta do alto dos telhados. Não tenho essa coragem. Eu ‘aconselho a calma ignóbil’, como o velho Belial em Paraíso perdido. É mais seguro. Neste país, se você não for um pukka sahib, você morre. Em quinze anos, eu nunca disse honestamente o que eu pensava a ninguém mais além do senhor. As minhas conversas aqui são uma válvula de escape; uma pequena Missa Negra às escondidas, se me entende bem.” Nesse momento ouviu-se um lamento desolado do lado de fora. O velho Mattu, o durwan hindu, porteiro que cuidava da igreja européia, estava parado, sob o sol, ao pé da varanda. Era uma velha criatura assolada pela febre, que lembrava mais um gafanhoto que um ser humano e que usava como roupa uns poucos centímetros de pano encardido. Morava perto da igreja numa cabana feita de latas de querosene achatadas, da qual ele às vezes saía correndo quando aparecia um europeu, fazendolhe uma reverência profunda e queixando-se de alguma coisa em relação ao seu talab, que era de dezoito rupias por mês. Olhos fixos na varanda com uma expressão lamentosa, massageava a pele terrosa do ventre com uma das mãos e, com a outra, fazia o gesto de levar comida à boca. O médico vasculhou os bolsos e atirou-lhe uma moeda de quatro annas por cima da balaustrada. Era um homem notório pelo
coração mole, e todos os mendigos de Kyauktada o tinham na mira. “Olhe ali a degeneração do Oriente”, disse o médico, apontando para Mattu, que se dobrara como uma lagarta e proferia vagidos de gratidão. “Veja o estado em que estão os seus membros. Os tornozelos são mais finos que os punhos de um europeu. Veja como ele tem um comportamento abjeto e servil. Como é ignorante — uma ignorância que, na Europa, só se encontra nos asilos para doentes mentais. Uma vez eu perguntei a Mattu qual era a idade dele. ‘Sahib’, ele me respondeu, ‘acho que eu tenho dez anos.’ Como é que o senhor não se julga, senhor Flory, naturalmente superior a criaturas assim?” “Pobre Mattu, parece ter sido esquecido pelo avanço do progresso moderno”, disse Flory, jogando mais uma moeda de quatro annas por cima da balaustrada. “Pode ir, Mattu, gastar o dinheiro com bebida. Degenere-se o quanto quiser. É o adiamento da Utopia.” “Aha, senhor Flory, às vezes eu acho que o senhor só diz essas coisas para — como é mesmo a expressão? — implicar comigo. O senso de humor inglês. Aqui no Oriente não temos senso de humor, como todo mundo sabe.” “Sorte sua. É o que acaba conosco, o maldito senso de humor.” Bocejou com as mãos atrás da cabeça. Mattu fora embora depois de produzir mais alguns sons de gratidão. “Acho que está na hora de ir, antes que esse maldito sol fique mais alto. O calor este ano vai ser infernal, estou sentindo nos ossos. Bem, doutor, discutimos tanto que nem lhe perguntei pelas novidades. Só cheguei ontem da floresta. E precisaria voltar depois de amanhã — mas não sei se vou. Aconteceu alguma coisa em Kyauktada? Algum escândalo?” O médico assumiu uma expressão subitamente séria. Tinha tirado os óculos, e seu rosto, com olhos escuros e aquosos, lembrava o de um cão retriever preto. Ele desviou os olhos e falou num tom um pouco mais hesitante do que antes. “O fato, meu amigo, é que há um problema muito desagradável pela frente. O senhor talvez possa achar graça — parece mesmo uma coisa sem importância —, mas estou com um sério problema. Ou melhor, estou correndo o risco de enfrentar um sério problema. É um assunto um tanto sigiloso. Vocês, europeus, nunca ouvem falar dele diretamente. Naquele lugar”, e acenou de maneira vaga com uma das mãos na direção do bazar, “estão sempre em andamento intrigas e conspirações de que os senhores nunca tomam conhecimento. Mas para nós elas são importantes.” “E o que anda acontecendo?” “É o seguinte. Estão montando uma intriga contra mim. Uma intriga muito grave, que pode manchar o meu caráter e arruinar a minha carreira oficial. O senhor é inglês e, como tal, não tem como entender essas coisas. Atraí a inimizade de um homem que o senhor provavelmente nem conhece, U Po Kyin, o magistrado suddivisional. É um homem muito perigoso. Os danos que ele pode me causar são incalculáveis.”
“U Po Kyin? Qual deles é esse?” “O sujeito grande, gordíssimo e com muitos dentes. A casa dele fica mais adiante nesse mesmo caminho, a menos de cem metros daqui.” “Ah, aquele patife gordo? Eu o conheço bem.” “Não, não, meu amigo, não, não!”, exclamou o médico, ansioso; “o senhor não tem meios de conhecê-lo. O senhor, um cavalheiro inglês, não tem como rebaixar o seu espírito ao nível rasteiro de um sujeito como U Po Kyin. Ele é mais que um patife, ele é... como posso dizer? As palavras me faltam. Ele me lembra um crocodilo em forma humana. Tem a astúcia do crocodilo, sua crueldade, sua bestialidade. Se o senhor conhecesse a ficha desse homem! As barbaridades que ele já cometeu! As extorsões, os subornos! As moças que ele arruinou, que ele violentou diante dos olhos das próprias mães! Ah, um cavalheiro inglês não tem como imaginar um personagem desses. E foi esse homem que fez o juramento de me destruir.” “Já ouvi muitas histórias sobre U Po Kyin, de muitas fontes”, disse Flory. “E ele me parece um bom exemplo de magistrado birmanês. Um birmanês me contou que, durante a guerra, U Po Kyin resolveu ajudar nossos esforços de recrutamento, e que teria formado um batalhão só com seus filhos ilegítimos. É verdade?” “Não pode ser”, respondeu o médico, “porque eles não teriam a idade necessária. Mas não há a menor dúvida de que é um sujeito muito mau. E agora decidiu que vai acabar comigo. Primeiro, ele me odeia porque eu sei coisas demais a respeito dele; além disso, é inimigo de todo homem honesto e razoável. E ele vai agir — é essa a prática de homens assim — pela calúnia. Vai espalhar infâmias a meu respeito, infâmias do tipo mais acabrunhante e mentiroso. E já começou.” “Mas alguém iria acreditar na palavra de um sujeito assim contra a sua? Ele é apenas um magistrado sem muita importância. E o senhor um alto funcionário.” “Ah, senhor Flory, o senhor não entende a astúcia oriental. U Po Kyin já destruiu funcionários mais importantes do que eu. Ele vai encontrar um modo de fazer com que as pessoas acreditem nele. E então... Ah, é uma situação muito difícil!” O médico deu um ou dois passos de um lado para o outro na varanda, limpando os óculos com o lenço. Ficou claro que havia mais alguma coisa que a cortesia o impedia de dizer. Por alguns instantes, exibiu um comportamento tão perturbado que Flory quase chegou a perguntar se ele queria algum tipo de ajuda, mas não chegou a dizê-lo porque sabia que seria inútil tentar interferir em disputas entre orientais. Nenhum europeu jamais entendia totalmente esses conflitos; existe neles sempre alguma coisa de impenetrável ao espírito europeu, uma conspiração por trás da conspiração, uma intriga dentro da intriga. Além disso, manter-se de fora dos conflitos “nativos” é um dos Dez Preceitos do pukka sahib. E ele perguntou, em tom de dúvida: “O que é uma situação difícil?” “É uma situação, se pelo menos... Ah, meu amigo, acho que o senhor vai rir de
mim. Mas é o seguinte: se pelo menos eu fosse membro do seu Clube Europeu! Ah, se eu conseguisse! Como a minha posição seria diferente!” “O Clube? Por quê? Como isso iria ajudá-lo?” “Meu amigo, nessas questões prestígio é tudo. Não que U Po Kyin vá me atacar de maneira aberta; ele jamais se atreveria; ele vai é me caluniar e me atacar pelas costas sempre que puder. E se as pessoas vão acreditar ou não no que ele diz, depende totalmente da minha posição junto aos europeus. É assim que as coisas acontecem na Índia. Se o nosso prestígio é bom, nós subimos; se é ruim, fracassamos. Uma insinuação, um simples gesto têm mais poder que mil relatórios oficiais. E o senhor não sabe o prestígio que dá a um indiano ser membro do Clube Europeu. No Clube, ele praticamente é um europeu, e não pode ser atingido por calúnia nenhuma. Um membro do Clube é sacrossanto.” Flory olhou para longe por cima da balaustrada da varanda. Tinha-se levantado, como que para ir embora. Sempre se sentia envergonhado e constrangido quando era necessário admitir entre eles que o médico, devido à pele escura, não podia ser recebido no Clube. É uma coisa desagradável quando um amigo próximo tem posição social diferente da nossa; mas isso é uma condição nativa do próprio ar da Índia. “Pode ser que eles o admitam na próxima assembléia geral”, disse. “Não digo que seja garantido, mas não é impossível.” “Espero, senhor Flory, que o senhor não ache que estou lhe pedindo que me indique para sócio do Clube. Deus me livre! Eu sei que isso é impossível para o senhor. Eu só estava comentando que, se eu fosse membro do Clube, a partir de então eu me tornaria invulnerável.” Flory acomodou seu terai um tanto frouxamente na cabeça e cutucou Flo com a bengala. Ela dormia debaixo da espreguiçadeira. Flory sentia um considerável desconforto. Sabia que, em princípio, se tivesse a coragem de enfrentar algumas altercações com Ellis, conseguiria garantir a admissão do dr. Veraswami como sócio do Clube. E o doutor, afinal, era seu amigo, na verdade praticamente o único amigo que tinha na Birmânia. Haviam conversado e discutido mais de cem vezes, o médico tinha jantado em sua casa, e chegara mesmo a propor apresentar Flory à sua mulher, mas ela, uma hindu devota, recusara a hipótese, cheia de horror. Tinham feito excursões de caça juntos — o médico, equipado com cartucheiras e facões, arquejando para subir as encostas escorregadias com folhas caídas de bambu e disparando sua arma um tanto a esmo. A decência comum impunha-lhe o dever de apoiar o médico. Mas também sabia que o médico jamais pediria seu apoio e que um oriental só seria admitido no Clube depois de uma disputa acirrada. Não, ele não queria se meter numa briga dessas! Não valia a pena. E disse: “Para lhe dizer a verdade, já andaram falando sobre isso. Foi o assunto da conversa de hoje de manhã, e aquele cretino do Ellis fez o seu sermão de sempre,
falando dos ‘negros sujos’. Macgregor sugeriu que admitíssemos um membro nativo. Imagino que tenha recebido alguma ordem nesse sentido.” “Sim, ouvi dizer. Ouvimos falar de todas essas coisas. Foi isso que pôs a idéia na minha cabeça.” “A questão vai ser discutida na assembléia geral de junho. Não sei o que vai acontecer, depende de Macgregor, acho. Claro que votarei a seu favor, mas não posso fazer mais do que isso. Sinto muito, mas não posso mesmo. O senhor nem imagina a briga que isso vai causar. É bem provável que o senhor acabe sendo aceito, no entanto eles só vão fazê-lo por obediência, como um dever desagradável, sob protesto. Transformaram num verdadeiro fetiche essa idéia de manter o Clube totalmente branco, como eles dizem.” “É claro, é claro, meu amigo! Entendo perfeitamente. Longe de mim querer que o senhor se meta em problemas com os seus amigos europeus por minha causa. Por favor, por favor, não se comprometa! O simples fato de todos saberem que o senhor é meu amigo já me ajuda mais do que o senhor imagina. O prestígio, senhor Flory, é como um barômetro. Cada vez que o senhor é visto entrando na minha casa, o meu mercúrio sobe meio grau.” “Bom, então vamos tentar manter a coluna marcando ‘Tempo Firme e Bom’. É o melhor que eu posso fazer pelo senhor, sinto muito.” “Mas já é mais que bom, meu amigo. E quanto a isso, existe outra coisa sobre a qual eu queria lhe avisar, apesar de achar que o senhor vai dar risada. É que o senhor também devia tomar cuidado com U Po Kyin. Cuidado com o crocodilo! Porque ele irá atacar o senhor com certeza, quando souber que é meu amigo.” “Tudo bem, doutor, vou tomar cuidado com o crocodilo. Embora eu ache que ele não tem muitos meios de me prejudicar.” “Pelo menos ele vai tentar. Eu sei como ele é. Vai fazer de tudo para me separar dos meus amigos. É possível até que tente espalhar calúnias contra o senhor também.” “Contra mim? Imagine, ninguém vai acreditar em nada que ele diga contra mim. Civis romanus sum. Sou um inglês — acima de qualquer suspeita.” “Ainda assim, cuidado com as infâmias dele, meu amigo. Não o subestime. Ele haverá de encontrar algum modo de atacá-lo. Ele é um crocodilo. E como o crocodilo...” O médico apertou de maneira impressionante a ponta do polegar contra a do indicador; às vezes suas imagens se misturavam. “... como o crocodilo, sempre ele ataca no ponto mais fraco!” “Sempre os crocodilos atacam no ponto mais fraco, doutor?” Os dois riram. Eram suficientemente íntimos para de vez em quando rirem juntos do inglês estranho do médico. Talvez, no fundo do seu coração, o médico estivesse um pouco decepcionado por Flory não se ter proposto a indicá-lo como sócio do Clube, mas ele preferiria morrer a dizer alguma coisa. E Flory estava mais do que satisfeito de mudar de assunto, um assunto desconfortável que por ele nunca teria
sido levantado. “Bom, está na minha hora, doutor. Caso eu não volte a vê-lo, até logo. Espero que tudo corra bem na assembléia geral. O velho Macgregor não é má pessoa. E acho que ele vai insistir na sua admissão.” “Esperemos que sim, meu amigo. Com isso, eu posso desafiar cem U Po Kyins. Mil até! Até logo, meu amigo, até logo.” Então Flory ajeitou o terai na cabeça e voltou para casa atravessando o maidan batido pelo sol a fim de tomar o seu café-da-manhã, para o qual aquela longa manhã de muita bebida, tabaco e conversa não lhe deixara o menor apetite.
*
4.
Flory ainda estava adormecido em sua cama encharcada de suor, totalmente nu, a não ser pelas calças shan pretas. Não fizera nada o dia inteiro. Passava cerca de três semanas de cada mês no acampamento e vinha a Kyauktada por poucos dias, especialmente para não fazer nada, pois tinha muito pouco trabalho de escritório. O quarto era amplo e quadrado, com paredes de alvenaria branca, portas vazadas, um quarto sem forro, só com vigas nuas em que as andorinhas se aninhavam. Os únicos móveis eram uma cama com quatro colunas em que o mosquiteiro enrolado fazia as vezes de dossel, mesa e cadeira de vime e um pequeno espelho; e também algumas prateleiras improvisadas contendo algumas centenas de livros, todos cobertos de mofo em razão das muitas estações chuvosas e perfurados pela ação das traças. Um tuktoo prendia-se à parede, chato e imóvel como um dragão heráldico. Para além do beiral da varanda, a luz caía em catadupas, como um óleo branco reluzente. Algumas pombas numa moita de bambu emitiam um murmúrio monótono e constante, curiosamente apropriado para o calor — um som sonolento, mas da sonolência do clorofórmio, não da provocada por uma canção de ninar. No bangalô de Macgregor, a duzentos metros dali, um durwan, como um relógio vivo, deu quatro batidas num pedaço de trilho de ferro. Ko S’la, o criado de Flory, despertado pelo som, entrou na cozinha, avivou as brasas do fogo de lenha e pôs a água do chá para ferver na chaleira. Em seguida vestiu seu gaungbaung cor-de-rosa, seu ingyi de musselina e foi levar a bandeja do chá para a cabeceira de seu patrão. Ko S’la (seu nome verdadeiro era Maung San Hla; Ko S’la era uma abreviação) era um birmanês baixo, de ombros largos e aparência rústica com pele muito escura e uma expressão atormentada. Usava um bigode negro que se curvava para baixo dos dois lados da boca, mas, como a maioria dos birmaneses, era praticamente imberbe. Era criado de Flory desde o dia em que este chegara à Birmânia. Os dois tinham apenas um mês de diferença de idade. Haviam passado a adolescência juntos, se arrastado lado a lado à espreita de patos e narcejas, esperado horas a fio em machans por tigres que nunca apareciam, compartilhado o desconforto de milhares de caminhadas e acampamentos; e Ko S’la arrumara mulheres para Flory, conseguiralhe dinheiro emprestado com os agiotas chineses, pusera-o na cama quando se embebedara, cuidara de seus ataques de febre. Aos olhos de Ko S’la, Flory, por ser solteiro, ainda era um rapaz; enquanto ele, Ko S’la, se casara, gerara cinco filhos, tornara a se casar e se transformara num dos mártires anônimos da bigamia. Como todos os criados de homens solteiros, Ko S’la era sujo e preguiçoso, mas profundamente dedicado a Flory. Jamais deixava que outra pessoa servisse Flory à mesa, carregasse sua arma ou segurasse a cabeça de seu cavalo enquanto ele montava. Em caminhadas, quando chegavam a um riacho, atravessava as águas com Flory nas costas. Tendia a sentir pena de Flory, em parte porque o achava infantil e fácil de enganar, em parte por causa de sua marca de nascença, que Ko S’la
considerava uma coisa terrível. Ko S’la pousou a bandeja do chá na mesa sem fazer barulho, depois dirigiu-se ao pé da cama e fez cócegas nos dedos dos pés de Flory. Sabia, por experiência, que era o único meio de despertar Flory sem deixá-lo de mau humor. Flory rolou para o lado, disse um palavrão e enfiou a cara no travesseiro. “Já deu quatro horas, santíssimo deus”, disse Ko S’la. “E eu trouxe duas xícaras, porque a mulher disse que estava vindo.” A mulher era Ma Hla May, a amante de Flory. Ko S’la sempre a chamava de a mulher, para manifestar seu desagrado — não que lhe desagradasse Flory ter uma amante, mas ele se ressentia da influência que Ma Hla May exercia na casa. “Meu santo patrão irá jogar ‘tínis’ agora à tarde?”, perguntou Ko S’la. “Não, está quente demais”, respondeu Flory em inglês. “Não quero comer nada. Leve de volta essa porcaria e me traga um uísque.” Ko S’la entendia muito bem o inglês, embora não fosse capaz de falar. Trouxe uma garrafa pequena de uísque e também a raquete de tênis de Flory, que apoiou de maneira significativa na parede diante da cama. O tênis, segundo as suas convicções, era um ritual misterioso e compulsório para todo inglês, e não gostava de ver o patrão sem ter o que fazer no fim da tarde. Flory empurrou para longe, enojado, a torrada e a manteiga que Ko S’la lhe trouxera, mas acrescentou um pouco de uísque a uma xícara de chá e sentiu-se melhor depois de tomá-la. Tinha dormido desde o meio-dia, sentia dor na cabeça e nos ossos, e em sua boca havia um gosto que lembrava papel queimado. Fazia anos que não consumia uma refeição completa. Toda comida européia na Birmânia era mais ou menos repelente — o pão é uma coisa esponjosa em cuja massa usam araca como fermento, e tem o sabor de um pãozinho de minuto que deu errado; a manteiga vem em lata, assim como o leite, a menos que seja a mistura cinzenta adequada apenas para gatos do dudh-wallah. Quando Ko S’la deixou o quarto, ouviu-se um arrastar de sandálias do lado de fora, e a voz aguda de uma moça birmanesa perguntou: “O meu patrão está acordado?”. “Pode entrar”, respondeu Flory, irritado. Ma Hla May entrou, tirando as sandálias vermelhas de verniz junto da porta. Eralhe permitido vir à hora do chá, como um privilégio especial, mas não nas outras refeições, nem usar sandálias na presença do patrão. Ma Hla May era uma mulher de vinte e dois ou vinte e três anos, e talvez de um metro e meio de altura. Usava um longyi de cetim chinês azul-claro bordado e um ingyi engomado de musselina branca adornado com vários pendentes de ouro. Os cabelos estavam enrolados num apertado cilindro preto que lembrava o ébano, e enfeitados com jasmins. Seu corpo miúdo, ereto e esbelto tinha contornos discretos, como um baixo-relevo escavado numa árvore. Parecia uma boneca, com seu rosto oval e tranqüilo da cor de cobre polido e olhos estreitos; uma boneca estrangeira, mas ainda assim de uma beleza grotesca. Um aroma de sândalo e óleo de coco
entrou no quarto junto com ela. Ma Hla May dirigiu-se à cama, sentou-se à beira dela e abraçou Flory abruptamente. Farejou o rosto dele com seu nariz chato, à moda birmanesa. “Por que o meu patrão não mandou me chamar hoje à tarde?”, perguntou. “Eu estava dormindo. Está quente demais para esse tipo de coisa.” “Quer dizer que o senhor prefere dormir sozinho a dormir com Ma Hla May? Quer dizer que deve me achar muito feia! Eu sou feia, patrão?” “Vá embora”, disse ele, empurrando-a. “Não quero você a esta hora do dia.” “Pelo menos me dê um toque dos seus lábios.” (Não existe a palavra “beijo” em birmanês.) “É o que todos os brancos fazem com as mulheres.” “Pronto. Agora me deixe sozinho. Vá procurar os cigarros e me traga um.” “Por que ultimamente o senhor nunca quer fazer amor comigo? Ah, dois anos atrás era muito diferente! Naquele tempo o senhor me amava. Trazia presentes, enfeites de ouro e longyis de seda de Mandalay. Mas hoje...”, e Ma Hla May estendeu um bracinho envolto em musselina, “... nem um enfeitezinho. No mês passado eu tinha trinta, e agora estão todos penhorados. Como é que eu posso ir ao bazar sem os meus adornos, e usando sempre o mesmo longyi? Fico com vergonha diante das outras mulheres.” “E é culpa minha você penhorar os seus adornos?” “Há dois anos o senhor teria ido resgatá-los para mim. Ah, o senhor não ama mais Ma Hla May!” Ela tornou a envolvê-lo com os braços e o beijou, um hábito europeu que ele lhe ensinara. Uma mistura de aroma de sândalo, alho, óleo de coco e dos jasmins dos cabelos dela emanava da mulher. Um perfume que lhe causava aflição nos dentes. Um tanto distraidamente, ele a deitou com a cabeça apoiada no travesseiro e contemplou seu rosto estranho e juvenil, de malares altos, pálpebras amendodadas e lábios pequenos e bem formados. Ela tinha belos dentes, que lembravam os de um gatinho. Ele a comprara dos pais dois anos antes, por trezentas rupias. Começou a acariciar seu pescoço castanho, que emergia como um caule macio e esbelto do ingyi sem gola. “Você só gosta de mim porque eu sou branco e tenho dinheiro”, disse ele. “Patrão, eu o amo, amo o senhor mais que qualquer coisa no mundo. Por que o senhor diz isso? Eu não lhe fui sempre fiel?” “Você tem um amante birmanês.” “Argh!” Ma Hla May fingiu um frêmito de repulsa. “Pensar naquelas mãos escuras horríveis me tocando! Se um birmanês me tocasse, eu morreria!” “Mentirosa.” Ele pôs a mão em seu seio. Ma Hla May não gostava disso, porque lhe lembrava que seus seios existiam, e o ideal de toda mulher birmanesa era não ter seios. Ficou deitada de costas e deixou que ele fizesse o que queria com ela, passiva mas ao
mesmo tempo satisfeita e com um meio sorriso, como um gato que se deixa acariciar. As carícias de Flory não significavam nada para ela (Ba Pe, o irmão mais novo de Ko S’la, era seu amante secreto), porém ficava profundamente afetada quando ele a ignorava. Às vezes ela chegava a ponto de acrescentar poções mágicas do amor à comida dele. O que ela amava era a vida ociosa de concubina e as visitas à sua aldeia vestida com as melhores roupas e adornos, quando então podia se gabar de sua posição como bo-kadaw, mulher de um homem branco; pois ela convencera todo mundo, inclusive ela mesma, de que era a esposa legal de Flory. Quando Flory acabou, virou-se de costas, abatido e envergonhado, e ficou calado, com a mão esquerda escondendo a marca de nascença. Ele sempre se lembrava da marca de nascença quando fazia alguma coisa de que se envergonhava. Enterrou o rosto no travesseiro, que estava úmido e cheirava a óleo de coco. Fazia um calor horrível, e as pombas do lado de fora continuavam a gorgolejar. Ma Hla May, nua, estava deitada ao lado de Flory, abanando-o suavemente com um leque de palha que pegara na mesa. Por fim ela se levantou, vestiu-se e acendeu um cigarro. Depois, voltou para a cama, sentou-se e começou a acariciar o ombro nu de Flory. A brancura da pele dele a fascinava, porque era estranha e por causa da sensação de poder que dava a ela. Mas Flory encolheu o ombro para afastar a mão de Ma Hla May. Nessas ocasiões, ela lhe provocava asco e pavor. Seu único desejo era que ela desaparecesse de sua frente. “Saia daqui”, disse ele. Ma Hla May continuou a acariciar o ombro de Flory. Ela nunca chegou a adquirir a sensatez de saber deixá-lo a sós nessas horas. Acreditava que a luxúria era uma espécie de feitiçaria que conferia à mulher poderes mágicos sobre um homem até que, no final, ela conseguiria reduzi-lo a um escravo semi-idiota. Cada abraço sucessivo enfraquecia mais a vontade de Flory e tornava o encantamento mais forte — era nisso que ela acreditava. E começou a atormentá-lo para recomeçar. Pousou o cigarro no cinzeiro e rodeou-o com os braços, tentando virá-lo de frente para ela e beijar o rosto que ele mantinha afastado, reclamando da frieza dele. “Vá embora, vá embora!”, exclamou ele com raiva. “Olhe no bolso das minhas calças curtas, ali tem dinheiro. Pegue cinco rupias e vá logo embora.” Ma Hla May encontrou a nota de cinco rupias e a enfiou debaixo do peito do seu ingyi, mas não foi embora. Pairava em torno da cama, irritando Flory até que ele finalmente se enfureceu e se levantou. “Fora deste quarto! Eu já lhe disse para ir embora. Não quero que você fique aqui depois que eu acabo.” “Que bela maneira de falar comigo! Você me trata como se eu fosse uma prostituta!” “E é mesmo. Fora”, disse ele, empurrando-a pelos ombros para fora do quarto. E chutou as sandálias dela depois que ela saiu. Era comum seus encontros acabarem
dessa forma. Flory ficou de pé no centro do quarto, bocejando. Será que deveria ir jogar tênis no Clube, afinal de contas? Não, para isso precisaria se barbear, e ele só conseguiria encarar o esforço de fazer a barba depois de várias doses de bebida. Apalpou o queixo áspero e se aproximou do espelho para examiná-lo de perto, mas virou o rosto. Não quis ver o semblante amarelado e abatido que olharia de volta para ele. Passou vários minutos parado de pé, com as pernas meio bambas, vendo o tuktoo armar o bote numa mariposa acima das prateleiras de livros. O cigarro que Ma Hla May abandonara queimou até o fim, desprendendo um cheiro acre. Flory tirou um livro da prateleira, abriu-o e depois jogou-o de lado, desgostoso. Não tinha nem a energia necessária para ler. Oh, Deus, Deus, o que fazer com o resto daquele maldito dia? Flo entrou no quarto se requebrando, sacudindo a cauda e querendo passear. Desanimado, Flory entrou no pequeno banheiro de piso de pedra que dava para o quarto, borrifou o corpo com água morna e vestiu a camisa e as calças curtas. Precisava fazer algum tipo de exercício antes de o sol se pôr. Na Índia, é visto como um mal passar o dia sem derramar nem uma gota de suor. Aquilo produzia na pessoa uma sensação de pecado mais forte do que mil atos de luxúria. No escuro do entardecer, depois de um dia preguiçoso, o tédio chegava a um ponto quase frenético, suicida. Trabalho, oração, livros, bebida, conversa — nada consegue combatê-lo; só se pode eliminá-lo pelo suor, através dos poros da pele. Flory saiu de casa e seguiu a estrada morro acima até as margens da floresta. Num primeiro trecho ela era apenas um matagal aberto, denso mas de moitas baixas, e as únicas árvores eram mangueiras semi-silvestres, cobertas com seus frutos cor de terebintina do tamanho de ameixas grandes. Em seguida, o caminho começava a serpentear em meio a árvores mais altas. A floresta estava seca e sem vida a essa altura do ano. As árvores ladeavam a estrada em fileiras densas e empoeiradas, com folhas de um verde-oliva opaco. Não se viam aves, além de umas poucas criaturas castanhas e esfarrapadas como tordos de má reputação saltitando desajeitados debaixo das moitas; à distância, alguma outra ave emitia um grito de “Ah ha ha! Ah ha ha!” — um som solitário e vazio, como o eco de uma risada. Sentia-se um aroma tóxico de folhas esmagadas. Ainda fazia calor, embora o sol já perdesse o brilho e a luz enviesada fosse amarela. Ao final de uns três quilômetros, a estrada acabava na passagem a vau de um riacho raso. Ali a floresta era mais verde, por causa da água, e as árvores eram mais altas. À beira do riacho havia o tronco tombado de uma imensa árvore conhecida como pyinkado, adornado com orquídeas que lembravam aranhas, além de algumas moitas de visco com suas flores brancas que pareciam de cera. Tinham um aroma penetrante, que lembrava o da tangerina. Flory caminhara depressa, o suor encharcara sua camisa e escorria para dentro dos olhos, que ardiam muito. Depois de
tanto transpirar, melhorara de humor. E também a visão daquele riacho sempre o alegrava; as águas eram claras, a mais rara das visões num país pantanoso. Atravessou o leito do riacho pelas pedras, com Flo espadanando na água atrás dele, e enveredou por uma picada estreita que conhecia bem e que avançava em meio à vegetação. Era uma picada que o gado tinha aberto para chegar ao riacho e beber água e pela qual poucos seres humanos seguiam. Levava até um poço de água fresca, quase cinqüenta metros rio acima. Ali crescia uma figueira-dos-pagodes, uma árvore imensa com mais de dois metros de espessura, composta de inúmeras ramificações de tronco, como uma corda de madeira torcida por um gigante. As raízes da árvore formavam uma caverna natural, debaixo da qual borbulhavam águas esverdeadas. Acima e em toda a volta, a folhagem densa barrava a passagem da luz, transformando aquele ponto numa gruta verde formada por paredes de folhagens. Flory tirou a roupa e caminhou para a água. Estava um pouco mais fresca do que o ar e chegava-lhe ao pescoço quando ele se sentava. Cardumes de mahseer prateados, do tamanho de sardinhas, foram encostar o nariz em sua pele e mordiscar seu corpo. Flo também entrara na água e nadava em silêncio à volta dele, lembrando uma lontra com suas patas de dedos unidos por uma membrana. Ela conhecia bem aquele poço, pois vinham muito ali sempre que Flory estava em Kyauktada. Houve uma agitação no alto da figueira-dos-pagodes e um ruído borbulhante como o de panelas em ebulição. Um bando de pombos verdes se instalara no alto da árvore, comendo as frutinhas que ela produzia. Flory olhou para a imensa abóbada verde da árvore, tentando distinguir as aves; eram invisíveis, de tanto que sua cor era idêntica à das folhas, mas ainda assim a folhagem da árvore parecia viva com a a presença dos pássaros, reluzente, como que sacudida pelos fantasmas das aves. Flo, apoiada nas raízes, rosnou para as criaturas invisíveis. Nesse momento, um pombo verde solitário desceu adejando e empoleirou-se num dos galhos mais baixos. Não sabia que estava sendo observado. Era uma criatura miúda, menor que uma pomba doméstica, com o dorso verde-jade mais macio que veludo, e o peito e o pescoço cobertos de cores iridescentes. Suas pernas lembravam a cera rosada que os dentistas usam. O pombo balançou para trás e para a frente no ramo, afofando as plumas do peito e passando nelas seu bico coralino. E Flory sentiu uma agulhada de dor. Só, só, a amargura de estar só! Tantas vezes assim, em recantos solitários da floresta, ele se deparava com alguma coisa — ave, flor, árvore — linda além das palavras, se pelo menos houvesse alguém com quem pudesse compartilhá-la. A beleza não tem sentido quando não é compartilhada. Se ele tivesse uma pessoa, pelo menos uma, para dividir sua solidão! De repente, o pombo viu o homem e o cão no solo, lançouse no ar e partiu célere como uma bala, com um farfalhar de asas. Não é comum ver pombos verdes tão de perto quando estão vivos. São aves que voam alto, vivem no topo das árvores e nunca descem ao solo, ou só para beber água. Quando caçados, se não são mortos de imediato, agarram-se ao galho até morrer, e só caem muito depois
que o caçador desiste e vai embora. Flory saiu da água, vestiu suas roupas e voltou pelo riacho. Não regressou para casa pela estrada, mas seguiu uma picada que avançava por dentro da floresta, pensando em pegar um desvio e atravessar uma aldeia que ficava à beira da floresta, não longe de sua casa. Flo entrava e saía do mato baixo, ladrando às vezes quando suas longas orelhas se prendiam aos espinhos. Uma vez ela encontrara uma lebre ali perto. Flory andava devagar. A fumaça de seu cachimbo flutuava direto para cima em plumas imóveis. Ele estava satisfeito e em paz depois da caminhada e do mergulho na água fresca. Agora o ar estava mais frio, a não ser nas áreas de calor concentrado debaixo das árvores mais copadas, e a luz era mais suave. Ouvia-se à distância o gemido calmo das rodas de um carro de boi. Em pouco tempo os dois tinham-se perdido na floresta e caminhavam em meio a um verdadeiro labirinto de árvores caídas e plantas emaranhadas. Chegaram a um fim de linha num ponto onde a picada estava bloqueada por plantas imensas, feias, que lembravam aspidistras ampliadas, cujas folhas terminavam em longos açoites armados de espinhos. Um vaga-lume reluzia esverdeado debaixo de uma moita; nos pontos de vegetação mais densa já anoitecia. Em seguida, o som das rodas do carro de boi foi ficando mais próximo, deslocando-se num curso paralelo ao deles. “Ei, saya gyi, saya gyi!”, gritou Flory, segurando Flo pela coleira para impedir que ela fugisse. “Ba le-de?”, gritou o birmanês em resposta. Ouviu-se o som de cascos cravandose no solo e gritos dirigidos aos bois. “Venha até aqui, por favor, ó douto e venerável senhor! Nós nos perdemos no caminho. Pare um instante, ó grande construtor de pagodes!” O birmanês desceu de seu carro e abriu caminho pela mata, cortando os cipós com seu dah. Era um homem baixo de meia-idade com um olho só. Conduziu Flory de volta à estrada, e este se acomodou no carro plano e desconfortável. O birmanês pegou as rédeas, gritou com os bois, cutucou a base de sua cauda com uma vara curta e o carro pôs-se em movimento com um guinchar das rodas. Os condutores birmaneses de carros de boi raramente engraxam seus eixos, talvez porque acreditam que o canto da madeira espante os maus espíritos, embora digam, quando lhe perguntam, que é porque são pobres demais para comprar graxa. Passaram por um pagode de madeira caiado de branco, da altura de um homem e meio escondido pelos ramos em crescimento das plantas. Em seguida a estrada serpenteava até a aldeia, que consistia de vinte cabanas de madeira em mau estado cobertas de palha, com um poço cercado por algumas tamareiras estéreis. As garças que tinham seus ninhos nas tamareiras voltavam para casa por cima das copas das árvores como revoadas brancas de flechas. Uma mulher amarela com seu longyi arregaçado debaixo das axilas perseguia um cão em torno de uma cabana, tentando atingi-lo com um pedaço de bambu e rindo, enquanto o cão ria também a seu modo.
A aldeia se chamava Nyaunglebin — “as quatro figueiras-dos-pagodes”; as árvores não existiam mais, provavelmente haviam sido cortadas e esquecidas cem anos antes. Os aldeões cultivavam uma faixa estreita de campos que se estendia entre a aldeia e a selva e também fabricavam carros de boi que vendiam em Kyauktada. Havia rodas de carro de boi espalhadas por toda parte por baixo das casas; objetos maciços de um metro e meio de diâmetro, com raios escavados de modo grosseiro mas enérgico. Flory desceu do carro e deu quatro annas ao carreiro. Alguns vira-latas nervosos apareceram por trás das casas para farejar Flo, além de um rebanho de crianças nuas e barrigudas, com os cabelos presos em coque no alto da cabeça, curiosas para ver o homem branco, porém mantendo-se a certa distância. O chefe da aldeia, um velho enrugado e de uma cor castanha de folha seca, saiu de casa, e seguiram-se muitas reverências. Flory sentou-se nos degraus da casa do chefe da aldeia e tornou a acender seu cachimbo. Estava com sede. “A água do seu poço é boa para beber, thugyi-min?” O velho refletiu, coçando a panturrilha da perna esquerda com a unha do dedão do pé direito. “Quem bebe, bebe, thakin. E quem não bebe, não bebe.” “Ah. Quanta sabedoria.” A mulher gorda que antes corria atrás do cão sem dono trouxe um bule de cerâmica enegrecida e uma xícara sem alça, e serviu a Flory um pouco de um chá verde-claro com gosto de fumaça. “Preciso ir, thugyi-min. Obrigado pelo chá.” “Vá com Deus, thakin.” Flory voltou para casa por um caminho que atravessava o maidan. Já estava escuro. Ko S’la tinha vestido um ingyi limpo e o esperava no quarto. Aquecera duas latas grandes de água para o banho, acendera os lampiões de querosene e estendera para Flory uma camisa e um terno limpos. As roupas limpas eram uma sugestão de que Flory devia se barbear, vestir-se e ir até o Clube depois do jantar. Ele às vezes passava as noites só de calças shan, enfiado numa poltrona com um livro, e Ko S’la não aprovava esse hábito. Detestava ver seu patrão comportar-se de modo diverso do dos outros brancos. O fato de Flory muitas vezes voltar embriagado do Clube, ao passo que permanecia sóbrio quando ficava em casa, não alterava a opinião de Ko S’la, porque embriagar-se era algo normal e perdoável nos homens brancos. “A mulher foi para o bazar”, anunciou ele, satisfeito, como sempre ficava quando Ma Hla May deixava a casa. “Ba Pe foi junto com um lampião, para iluminar o caminho quando ela voltar.” “Ótimo”, disse Flory. Ela saíra para gastar as cinco rupias — provavelmente no jogo. “A água do banho do senhor sagrado está pronta.” “Espere, primeiro precisamos cuidar do cachorro. Traga a escova”, disse Flory. Os dois homens agacharam-se lado a lado no chão e escovaram o pêlo sedoso de
Flo, apalpando o espaço entre os dedos dela, à procura de carrapatos. Aquilo precisava ser feito toda noite. Ela pegava uma grande quantidade de carrapatos ao longo do dia, no início horrendas criaturas cinzentas do tamanho da cabeça de um alfinete, mas que se empanturravam de sangue até chegar às dimensões de uma ervilha. Ko S’la punha no chão cada carrapato retirado e o esmagava criteriosamente com o dedo grande do pé. Em seguida, Flory barbeou-se, tomou banho, vestiu-se e sentou-se para jantar. Ko S’la ficava de pé atrás da cadeira dele, entregando-lhe os pratos e abanando-o com o leque de vime. Arrumara uma tigela com hibiscos vermelhos no centro da mesinha. A refeição era pretensiosa e repelente. Os habilidosos cozinheiros “mug”, descendentes de criados treinados pelos franceses na Índia séculos antes, eram capazes de fazer qualquer coisa com a comida, exceto torná-la palatável. Depois do jantar, Flory foi caminhando até o Clube, para jogar bridge e ficar pelo menos três quartos bêbado, como fazia quase todas as noites em que estava em Kyauktada.
*
5.
Apesar de todo o uísque que tomou no Clube, Flory dormiu pouco aquela noite. Os vira-latas sem dono uivavam para a lua — ela estava apenas um quarto cheia e quase se pôs à meia-noite, mas os cães passavam o dia inteiro dormindo no calor, e logo começavam seus coros à lua. Um deles tomara-se de antipatia pela casa de Flory, e decidira latir sistematicamente para ela. Sentado a uns cinqüenta metros do portão, soltava ladridos agudos e raivosos, um a cada meio minuto, com a regularidade de um relógio. E ficava assim por duas ou três horas, até os galos começarem a cantar. Flory se revirava na cama, com a cabeça doendo. Algum idiota dissera que não se pode odiar um animal; pois ele devia passar algumas noites na Índia, quando os cães ladram para a lua. No final, Flory não agüentou mais. Levantou-se, remexeu no baú de lata debaixo da cama para pegar seu fuzil e alguns cartuchos, e saiu para a varanda. Ela estava bastante clara à luz da lua crescente. Ele conseguiu distinguir o cachorro e tinha boas condições de mira. Apoiou-se no pilar de madeira da varanda e fez pontaria com todo o cuidado; então, quando sentiu a coronha pesada apoiada contra seu ombro nu, fez uma careta. O fuzil tinha um coice pesado e sempre deixava um hematoma quando era disparado. A carne macia de seu ombro acovardou-se. Baixou a arma. Não teve coragem de disparar a sangue-frio. Não adiantava tentar dormir. Flory pegou seu casaco e alguns cigarros, e começou a andar de um lado para o outro pelo caminho do jardim, em meio às flores fantasmagóricas. Fazia calor, os mosquitos o encontraram e atacaram-no zumbindo. Cães espectrais perseguiam-se no maidan. À esquerda, as pedras tumulares do cemitério dos ingleses emitiam um fraco fulgor esbranquiçado e sinistro, e era possível ver ali perto as elevações remanescentes de antigas tumbas chinesas. Diziam que a encosta era mal-assombrada e que os chokras do Clube choravam quando os mandavam percorrer aquela estrada à noite. “Patife, patife covarde”, dizia Flory a si mesmo; sem irritação, porém, porque estava acostumado demais a insultar-se assim. “Covarde, vagabundo, bêbado, fornicador, patife cheio de autopiedade! Todos esses idiotas do Clube, esses cretinos maçantes aos quais você costuma se sentir superior — são todos melhores que você, cada um deles. Pelo menos são homens, lá ao modo pretensioso deles. E não covardes nem mentirosos. Nem semimortos apodrecendo em vida. Mas você...” E tinha razão para se xingar assim. Tinha havido um acontecimento desagradável e sórdido no Clube aquela noite. Uma coisa bastante comum, bastante de acordo com o precedente; mas ainda assim rasteira, covarde, desonrosa. Quando Flory chegara ao Clube, só Ellis e Maxwell estavam lá. Os Lackersteen tinham ido até a estação no carro que o sr. Macgregor lhes emprestara, para receberem a sobrinha, que chegaria no trem da tarde. Os homens jogavam amigavelmente uma partida de bridge de três quando Westfield entrou, o rosto
sardento muito corado de raiva, trazendo um exemplar do jornal local chamado o Patriota Birmanês. Trazia um artigo infamante, atacando o sr. Macgregor. A fúria de Ellis e Westfield foi demoníaca. Ficaram tão enraivecidos que foi difícil a Flory simular uma cólera suficiente para satisfazê-los. Ellis passou cinco minutos praguejando e então, por algum processo extraordinário, concluiu que o responsável pelo artigo era o dr. Veraswami. E planejou um contragolpe imediato. Precisavam afixar um aviso no quadro — um aviso em resposta e contrário ao que o sr. Macgregor tinha divulgado no dia anterior. Ellis escreveu o texto imediatamente, com a sua letra pequena e bem legível. “Em vista dos insultos covardes feitos recentemente ao nosso vice-comissário, nós, os abaixo-assinados, queremos manifestar a nossa opinião de que este é o pior momento possível para cogitar de aceitar negros neste Clube” etc. etc. Westfield discordou de “negros”. A palavra foi riscada com um traço fino e substituída por “nativos”. O texto trazia quatro assinaturas: R. Westfield, p. w. Ellis, c. w. Maxwell, J. Flory. Ellis ficou tão satisfeito com sua idéia que pelo menos metade de sua cólera se evaporou. Aquele texto em si não adiantaria muita coisa, mas a notícia de que tinha sido postado se espalharia depressa pela cidade, chegando ao dr. Veraswami no dia seguinte. Na verdade, o doutor teria sido publicamente chamado de negro pela comunidade européia, o que deixava Ellis encantado. Pelo resto da noite, ele mal conseguiu desgrudar os olhos do quadro de avisos e a intervalos de poucos minutos exclamava, alegre: “Agora aquele pançudo vai ter alguma coisa em que pensar, não é? Agora o desgraçado vai saber o que pensamos dele. É assim que se põe essa gente no lugar” etc. No entanto, Flory havia assinado um insulto público a seu amigo. E pela mesma razão que o levara a fazer mil outras coisas parecidas na vida: porque lhe faltava a centelha de coragem necessária para recusar-se. Porque é evidente que ele poderia ter-se recusado a assinar, se tivesse decidido; e igualmente evidente que a recusa implicaria uma discussão com Ellis e Westfield. Ah, mas como ele destestava aquelas discussões! As investidas, as alfinetadas! A mera idéia disso já o deixava nervoso; podia sentir sua marca de nascença palpável na face e alguma coisa acontecendo em sua garganta e deixando sua voz inexpressiva e com um tom culposo. Isso não! Foi mais fácil insultar seu amigo, sabendo que seu amigo tomaria conhecimento do insulto. Fazia quinze anos que Flory estava na Birmânia, e na Birmânia as pessoas aprendem a não ir contra a opinião pública. Mas seus problemas eram anteriores a isso. Tinham começado ainda no ventre materno, quando o acaso estampara aquela marca de nascença em sua face. Quando ele entrara para a escola, aos nove anos, foram os olhares e, ao final de alguns dias, os gritos dos outros meninos; depois o apelido de Cara-Roxa, que persistiu até que o poeta da escola (hoje, lembrou Flory, um crítico que escrevia bons artigos no Nation) ter produzido um dístico:
Nosso amigo Flory é um ótimo menino, E a sua cara lembra o cu de um babuíno,
depois do que seu apelido mudou para Bunda-de-Macaco. E os anos subseqüentes. Nas noites de sábado, os rapazes mais velhos promoviam o que chamavam de Inquisição Espanhola. A tortura favorita consistia em agarrar a vítima numa imobilização muito dolorosa, conhecida apenas por uns poucos e chamada Togo Especial, enquanto outra pessoa a açoitava com uma noz presa na ponta de um cordão. Mas Flory conseguira reagir a “Bunda-de-Macaco” no devido tempo. Era mentiroso e jogava bem futebol, as duas qualidades absolutamente necessárias para ser bem-sucedido na escola. Em seu último ano, ele e outro rapaz prenderam o poeta do colégio no Togo Especial enquanto o capitão do time da escola dava-lhe seis sapatadas no traseiro com um sapato de corrida com cravos na sola, por ter sido surpreendido escrevendo um soneto. Foi um período de formação. Dessa primeira escola ele foi transferido para um internato particular mais barato, de terceira linha. Um lugar pobre e espúrio. Imitava os grandes internatos com sua tradição de Alto Anglicanismo, cricket e poesia latina, e tinha um hino chamado “O jogo da vida”, em que Deus figurava como o Grande Árbitro. Mas faltava-lhe a principal virtude dos grandes internatos, a atmosfera de erudição literária. Os rapazes aprendiam o mais perto de nada que conseguiam. Não havia castigos físicos suficientes para fazê-los engolir o lixo medonho do currículo, e os professores infelizes e mal pagos não eram do tipo de quem se absorve sabedoria mesmo sem perceber. Flory saiu da escola como um jovem grosseiro e palerma. Ainda assim trazia em si, e ele sabia disso, certas possibilidades; possibilidades que lhe valeriam provavelmente muitos problemas. Mas é claro que ele não lhes dera vazão. Não há rapaz que consiga começar a vida com o apelido de Bunda-de-Macaco sem ter aprendido a sua lição. Ainda não completara vinte anos quando chegou à Birmânia. Seus pais, gente de bem e muito afetuosos com ele, tinham-lhe arranjado um emprego numa empresa madeireira. Fora-lhes difícil conseguir aquela posição, e precisaram adiantar-lhe um auxílio que estava além de suas posses; mais tarde, ele os recompensara respondendo suas cartas com rabiscos descuidados que produzia com um intervalo de meses. Seus seis primeiros meses na Birmânia foram passados em Rangoon, onde supunham que ele aprenderia o lado administrativo de seu ofício. Tinha morado numa república com quatro outros jovens que dedicavam todas as suas energias à devassidão. E que devassidão! Entornavam litros de uísque que no íntimo detestavam, revezavam-se ao piano entoando cançonetas idiotas de uma indecência enlouquecida, esbanjavam suas rupias a rodo com velhas meretrizes judias com cara
de crocodilo. Também fora um período de formação. De Rangoon, seguira para um acampamento na floresta, ao norte de Mandalay, para extrair teca. A vida na floresta não era má, apesar do desconforto, da solidão e do que é quase o pior da vida na Birmânia: a comida péssima e monótona. Ele era muito jovem na época, jovem o suficiente para idolatrar um herói, e fez vários amigos entre os homens da empresa. Também havia caçadas, pescarias e, talvez uma vez por ano, uma viagem apressada a Rangoon — a pretexto de ir ao dentista. Ah, a alegria dessas viagens a Rangoon! Correr até a livraria Smart and Mookerdum à procura dos romances recém-lançados na Inglaterra, o jantar no restaurante de Anderson, que servia bifes e manteiga que viajavam mais de doze mil quilômetros no gelo, as gloriosas bebedeiras! Ele era jovem demais para perceber o que aquela vida preparava para ele. Não via os anos que se estendiam à sua frente, solitários, enfadonhos, corruptores. Aclimatou-se à Birmânia. Seu corpo ajustou-se aos estranhos ritmos das estações tropicais. Todo ano, de fevereiro a maio, o sol brilhava no céu como um deus feroz, e então, de repente, as monções vinham do oeste, primeiro em chuvaradas rápidas, depois em aguaceiros pesados e intermináveis que encharcavam tudo, até que nem mesmo as roupas, nem mesmo a cama ou a comida dessem a impressão de ficar secas. Ainda fazia calor, mas um calor sufocante e vaporoso. Os caminhos mais baixos da floresta se transformavam em lodaçais, e as plantações de arroz em grandes extensões de água estagnada com cheiro de rato molhado. Livros e botas cobriam-se de mofo. Birmaneses nus, com chapéus de folha de palmeira de um metro de diâmetro, aravam as plantações de arroz, conduzindo seus búfalos com água pelos joelhos. Mais adiante, as mulheres e as crianças plantavam as mudinhas verdes de arroz, enterrando cada plantinha na lama com pequenos tridentes. Ao longo de julho e agosto, a chuva mal fazia uma pausa. E então, uma noite, bem alto no céu, ouviam-se os gritos de aves invisíveis. As narcejas deixavam a Ásia Central em direção ao sul. As chuvas se tornavam mais esparsas e acabavam parando em outubro. Os campos de arroz secavam, o arroz se desenvolvia, as crianças birmanesas brincavam de amarelinha com sementes de gonyin e empinavam pipas no vento fresco. Era o início do curto inverno, quando a Alta Birmânia parecia assombrada pelo fantasma da Inglaterra. Flores silvestres brotavam por toda parte, não exatamente iguais às da Inglaterra, mas muito semelhantes — madressilvas em moitas densas, rosas silvestres com seu perfume peculiar, até mesmo violetas nas áreas mais sombreadas da floresta. O sol se deslocava baixo pelo céu, e as noites e madrugadas eram muito frias, com nevoeiros brancos que se espalhavam pelos vales como o vapor emitido por chaleiras gigantescas. Saía-se à caça de patos e narcejas. As narcejas eram muitíssimo abundantes, e os gansos selvagens formavam bandos que se erguiam do jeel com um ronco, como um trem de carga atravessando uma ponte de ferro. O arroz quase maduro, chegando à altura do peito de um homem, ficava amarelo e lembrava o trigo. Os birmaneses seguiam para o trabalho com um
pano amarrado na cabeça e os braços cruzados sobre o peito, o rosto amarelado e dolorido com o frio. De manhã, podia-se percorrer extensões enevoadas e incongruentes de gramados encharcados e quase ingleses, e passar por árvores nuas onde os macacos se acocoravam nos galhos mais altos, à espera do sol. À noite, voltando para o acampamento pelas passagens frias, podiam-se encontrar manadas de búfalos que os meninos conduziam de volta para casa, os chifres enormes destacando-se como luas crescentes em meio à névoa. Todos dormiam com três cobertores e comiam empadões de carne de caça em vez da eterna carne de frango. Depois do jantar, podia-se sentar num tronco ao lado da grande fogueira do acampamento, tomando cerveja e conversando sobre caçadas. As chamas dançavam como arbustos vermelhos, projetando um círculo de luz à beira do qual empregados e trabalhadores braçais se acocoravam, intimidados de se intrometerem em meio aos brancos, mas ainda assim aproximando-se o mais que podiam do fogo, como cães. Da cama, era possível ouvir o orvalho gotejando das árvores, como uma chuva de pingos grossos porém esparsos. Era uma existência boa enquanto a pessoa era jovem e não precisava se preocupar nem com o futuro nem com o passado. Flory tinha vinte e quatro anos e estava pronto para gozar sua licença na Inglaterra, quando estourou a Guerra. Tinha escapado do serviço militar, o que foi fácil de conseguir e parecia a coisa natural àquela altura. Os civis da Birmânia tinham uma teoria reconfortante segundo a qual “manter-se firme no emprego” era o mais verdadeiro patriotismo; chegava a haver uma certa hostilidade velada contra os homens que abandonavam seu emprego para se juntar ao Exército. Na realidade, Flory evitara a Guerra porque já fora corrompido pelo Oriente e não queria trocar seu uísque, seus empregados e suas garotas birmanesas pelo tédio das manobras e pela exigência cruel das marchas forçadas. A Guerra se desenrolava, como uma tempestade além do horizonte. O país, quente e ventoso, distante do perigo, era dominado por uma sensação de solidão e esquecimento. Flory adquiriu o hábito de ler com voracidade e aprendeu a viver nos livros quando a vida se tornava cansativa. Estava ficando adulto, cansando-se dos prazeres juvenis, aprendendo a pensar por conta própria, quase contra a vontade. Comemorou seu vigésimo sétimo aniversário no hospital, coberto da cabeça aos pés por feridas horríveis conhecidas como “feridas da lama”, mas que provavelmente haviam sido provocadas pelo uísque e pela comida de má qualidade. Deixaram pequenas crateras na pele que levaram dois anos para desaparecer. De repente, ele começou a se sentir muito mais velho e a ter uma aparência também muito mais velha. Sua juventude estava encerrada. Oito anos de vida oriental, febre, solidão e bebedeiras intermitentes tinham-lhe imposto sua marca. Desde então, cada ano tinha sido mais solitário e amargo que o anterior. O que se encontrava no centro de todos os seus pensamentos a essa altura, e envenenava tudo, era o ódio cada vez mais acerbo à atmosfera de imperialismo em que vivia. Pois à
medida que seu cérebro se desenvolvia — não se pode deter o desenvolvimento do cérebro, e uma das tragédias dos que estudam pouco é que se desenvolvem tardiamente, quando já estão comprometidos com algum modo errado de vida —, ele foi percebendo a verdade sobre os ingleses e seu Império. O Império Indiano era um regime despótico — de um despotismo benevolente, sem dúvida, mas ainda assim despotismo, que tinha por finalidade o roubo. E quanto aos ingleses do Oriente, o sahiblog, Flory lhes adquirira um tal ódio depois de viver naquela sociedade que se tornara praticamente incapaz de ser justo com eles. Afinal, os pobres-diabos não eram piores do que ninguém. Levavam uma vida nada invejável; não é exatamente um bom negócio passar trinta anos sendo mal pago num país estrangeiro e em seguida voltar para casa com o fígado destroçado e as costas parecendo um abacaxi, tal o tempo que se passou sentado em cadeiras de palhinha, para aposentar-se como aquele sujeito aborrecido de algum clube de segunda categoria. Por outro lado, o sahiblog não devia ser idealizado. Existe uma idéia corrente de que os homens ligados a “postos avançados do Império” são pelo menos capazes e trabalhadores. Mas trata-se de uma ilusão. Com exceção dos serviços de fundo científico — como o Departamento de Florestas, o Departamento de Obras Públicas e assemelhados —, os funcionários britânicos na Índia não têm nenhuma necessidade especial de fazer seu trabalho com a mínima competência. Poucos trabalham com o mesmo afinco ou inteligência que um carteiro de qualquer cidadezinha do interior da Inglaterra. O verdadeiro trabalho administrativo é feito principalmente pelos subordinados nativos; e a genuína espinha dorsal do despotismo não são os funcionários públicos, mas o Exército. Com a existência do Exército, é possível para os funcionários e os homens de negócios continuarem a operar com a segurança necessária, mesmo que sejam idiotas. E a maioria deles são idiotas. Pessoas decentes e aborrecidas, cultivando e fortificando a sua mesmice por trás de duzentas e cinqüenta mil baionetas. É um mundo sem ar, estupidificante. Um mundo em que cada palavra, cada idéia, é censurada. Na Inglaterra, é difícil sequer imaginar uma atmosfera como essa. Na Inglaterra qualquer um é livre; todos vendemos a alma em público e a resgatamos de volta em particular, entre amigos. Mas mesmo uma amizade mal consegue existir quando cada homem branco é mais um dente da engrenagem do despotismo. A liberdade de expressão é impensável; todos os outros tipos de liberdade são consentidos. Você é livre para se tornar um bêbado, um ocioso, um covarde, uma pessoa traiçoeira, um fornicador renitente; mas não é livre para pensar por conta própria. Sua opinião em qualquer assunto de alguma importância lhe é ditada pelo código do pukka sahib. Ao final de algum tempo, o esforço para manter sua revolta em silêncio acaba por envenená-lo como uma doença secreta. Toda a sua vida se transforma numa vida de mentiras. Ano após ano você freqüenta os pequenos Clubes assombrados por Kipling, copo de uísque à direita, o último número do Financial Times à sua
esquerda, escutando e concordando sem demora enquanto o coronel Isso ou Aquilo expõe sua teoria segundo a qual esses malditos nacionalistas deviam ser fervidos em tachos de óleo. Você ouve seus amigos orientais serem chamados de “pequenos babus sebosos” e admite, como se espera, que eles de fato são sebosos e pequenos babus. Você vê moleques mal saídos da escola desferindo pontapés em criados de cabelos brancos. Chega um momento em que você começa a arder de ódio de seus compatriotas, em que começa a desejar que houvesse um levante nativo que afogasse o seu Império num banho de sangue. E não há nada de honroso nisso, e mal se encontra alguma sinceridade. Porque, au fond, o quanto se lhe dá que o Império Indiano seja despótico ou que os indianos sejam oprimidos e explorados? Você só se incomoda porque lhe negam o direito à liberdade de expressão. Você é uma cria do despotismo, um pukka sahib, mais condicionado que um monge ou um selvagem por um inquebrantável sistema de tabus. O tempo foi passando e a cada ano Flory se sentia menos à vontade no mundo dos sahibs, tendendo a criar problemas cada vez que falava a sério sobre qualquer assunto. De maneira que precisou aprender a viver interiormente, em silêncio, nos livros e em pensamentos secretos que não podia manifestar. Mesmo em suas conversas com o médico, até certo ponto falava sozinho, porque o médico, um bom homem, pouco compreendia do que lhe era dito. Mas viver uma vida real em segredo é uma coisa que corrompe. As pessoas precisam viver na corrente da vida, e não pôrse contra ela. Mais valeria ter sido o mais obstinado dos pukka sahibs, o que jamais vacilou em “Forty years on” do que levar uma vida silenciosa e isolada, consolandose com palavras secretas e estéreis. Flory nunca voltou à Inglaterra. Por quê, ele não seria capaz de explicar, embora soubesse perfeitamente. No começo, foram empecilhos acidentais. Primeiro a Guerra e, depois da Guerra, sua empresa ficou com tanta falta de assistentes treinados que não lhe concederam licença por outros dois anos. Então, finalmente, ele se tinha preparado. Ansiava pela Inglaterra, embora temesse enfrentá-la, assim como tememos nos ver diante de uma bela mulher quando estamos sem colarinho e com a barba por fazer. Quando ele saíra da terra natal, era um rapaz, um rapaz promissor, bonito a despeito da sua marca; agora, apenas dez anos depois, ele se tornara amarelo, magro, bêbado, quase um homem de meia-idade nos hábitos e na aparência. Ainda assim, sentia saudades da Inglaterra. O navio avançava para oeste por sobre extensões de mar que lembravam a prata grosseiramente martelada, encrespada pelos ventos de comércio do inverno. O sangue ralo de Flory acelerou-se com a boa comida e com o cheiro do mar. E ocorreu-lhe — uma coisa de que realmente se esquecera na atmosfera estagnada da Birmânia — que ele ainda era jovem o bastante para recomeçar. Passaria um ano em companhia civilizada, encontraria alguma jovem que não se incomodasse com sua marca de nascença — uma jovem civilizada, não uma pukka memsahib —, casar-se-ia com ela e suportaria
mais dez ou quinze anos de Birmânia. Em seguida eles se aposentariam — ele teria acumulado doze mil ou quinze mil libras de capital, talvez. Comprariam uma casinha no campo, viveriam cercados de amigos, livros, de seus filhos, de animais. Estariam livres para sempre do cheiro daquele reino do pukka sahib. E ele se esqueceria da Birmânia, daquele país horrível que quase acabara com ele. Quando chegou a Colombo, encontrou um telegrama à sua espera. Três homens de sua empresa tinham morrido de repente de complicações de malária. A empresa sentia muito, mas será que ele não poderia por favor retornar imediatamente a Rangoon? Haveriam de conceder-lhe uma nova licença na primeira oportunidade. Flory embarcou no navio seguinte para Rangoon, amaldiçoando sua sorte, e tomou o trem de volta para o seu quartel-general. A essa altura ainda não ficava em Kyauktada, mas em outra cidade da Alta Birmânia. Todos os criados estavam à sua espera na plataforma. Ele os transferira en bloc para o seu sucessor, que morrera. Era tão estranho tornar a ver seus rostos familiares! Dez dias antes, ele estava a caminho da Inglaterra com a presteza possível, e já quase se sentia na Inglaterra; e agora se encontrava ali de volta à velha cena imutável, com os carregadores negros nus a dividir a bagagem e um birmanês gritando a seu lado pelo caminho. Os criados o cercaram em tumulto, um círculo de rostos castanhos amistosos, oferecendo-lhe presentes. Ko S’la trouxera uma pele de sambhur, os indianos alguns doces e uma guirlanda de margaridas, Ba Pe, à época um menino, um esquilo numa gaiola de vime. Havia carros de boi à espera da bagagem. Flory voltou para casa caminhando, sentindo-se totalmente ridículo com aquela guirlanda imensa pendurada no pescoço. A luz do fim de tarde invernal era amarelada e leniente. No portão, um velho indiano, da cor da terra, cortava a grama com uma pequena foice. As mulheres do cozinheiro e do mali estavam ajoelhadas diante do alojamento dos criados, moendo pasta de curry na mó de pedra. Alguma coisa se agitou no coração de Flory. Foi um desses momentos em que tomamos consciência de uma vasta mudança e deterioração em nossa vida. De repente ele percebeu que no fundo do coração estava feliz por ter voltado. Aquele país que ele odiava era agora o seu país nativo, o seu lar. Vivera ali por dez anos, e cada partícula do seu corpo continha solo birmanês. Cenas como aquela — a luz turva do anoitecer, o velho indiano cortando a grama, o gemido das rodas do carro de boi, as garças em bando — eram-lhe mais nativas do que a Inglaterra. Ele cravara raízes profundas, talvez as mais profundas que jamais tivera, num país estrangeiro. A partir de então, nunca mais solicitou licença para retornar à Inglaterra. Seu pai havia morrido, depois sua mãe, e suas irmãs, mulheres desagradáveis com cara de cavalo de quem ele jamais gostara, haviam se casado, e Flory perdera quase todo o contato com elas. Não tinha mais laço algum com a Europa, salvo o dos livros. Pois ele percebera que simplesmente voltar à Inglaterra não era um remédio para a solidão; compreendera a natureza do inferno reservado aos anglo-indianos. Ah, os pobres-diabos que insistiam sempre na mesma conversa, em Bath e Cheltenham!
Aquelas pensões sepulcrais com anglo-indianos empilhados em todos os estágios de decomposição, todos rememorando sem parar o que ocorrera em Boggleywalah em 1888! Pobres-diabos, eles sabem o que significa ter deixado o coração num país estrangeiro e odiado. Só havia, viu ele claramente, uma saída. Encontrar alguma pessoa disposta a dividir com ele a vida na Birmânia — mas compartilhar de verdade a vida interior dele, a vida secreta, e guardar da Birmânia as mesmas lembranças que ele conservava. Alguém que pudesse amar a Birmânia como ele amava e odiá-la como ele odiava. Que o ajudasse a viver sem ocultar nada, sem deixar nada por dizer. Alguém que o entendesse: um amigo, concluiu. Um amigo. Ou uma esposa? A mulher impossível. Alguém como a sra. Lackersteen, por exemplo? Uma maldita memsahib amarelada e magra, à cata de escândalos entre um coquetel e outro, implicando com os criados, vivendo vinte anos no país sem aprender uma palavra da língua local. Uma dessas não, pelo amor de Deus. Flory recostou-se no portão. A lua desaparecia por trás da muralha escura da selva, porém os cães ainda uivavam. Alguns versos de Gilbert, o autor de operetas, vieram-lhe à cabeça, uma cançoneta vulgar mas muito apropriada — alguma coisa que falava sobre “discorrer sobre sua complicada disposição de espírito”. Gilbert era um sujeito de muito talento. Será que todos os seus problemas, no fim das contas, reduziam-se a isso? Só gemidos complicados e indignos de um homem de verdade; coisa de pobre-menina-rica? Será que ele não passava de um ocioso que usava o tempo livre para inventar sofrimentos imaginários? Uma sra. Wititterly espiritual? Um Hamlet sem poesia? Talvez. E, se assim fosse, será que isso ajudava a tornar as coisas mais toleráveis? Não deixa de ser menos amargo, mesmo que talvez seja culpa da própria pessoa, ver-se à deriva, apodrecendo na desonra e numa horrível futilidade, sabendo o tempo todo que em algum lugar dentro de si existe a possibilidade de um ser humano decente. Enfim, Deus nos livre da autocomiseração! Flory voltou para a varanda, pegou o fuzil e, fazendo uma ligeira careta, atirou no cão sem dono. Ouviu-se um estrondo ressonante e a bala enterrou-se no maidan, bem longe do alvo. Um hematoma arroxeado surgiu no ombro de Flory. O cão ganiu assustado, bateu em retirada e depois, instalado a quase cinqüenta metros de distância, recomeçou a ladrar ritmicamente.
*
6.
O sol da manhã ergueu-se inclinado sobre o maidan e cobriu, com o brilho de uma folha de ouro, a fachada branca do bangalô. Quatro corvos preto-arroxeados chegaram voando baixo e se empoleiraram na balaustrada da varanda, esperando uma oportunidade de entrar rapidamente e roubar o pão com manteiga que Ko S’la pusera ao lado da cama de Flory. Flory se arrastou para fora do mosquiteiro, pediu aos gritos que Ko S’la lhe trouxesse um copo de gim, em seguida foi até o banheiro e ficou sentado por algum tempo numa tina de zinco cheia de água supostamente fria. Sentindo-se melhor depois do gim, ele se barbeou. Geralmente ele só se barbeava no fim do dia, porque tinha uma barba preta que crescia muito depressa. Enquanto Flory se deixava ficar sentado em seu banho, o sr. Macgregor, de shorts e camiseta na esteira de bambu estendida especialmente em seu quarto, enfrentava os Números 5, 6, 7, 8 e 9 dos Exercícios físicos para sedentários, o manual de Nordenflycht. Nunca, ou quase nunca, o sr. Macgregor deixava de fazer seus exercícios matinais. O Número 8 (estendido de costas, erguer as pernas na perpendicular sem dobrar os joelhos) era francamente doloroso para um homem de quarenta e três anos; o Número 9 (estendido de costas, erguer o tronco até encostar os dedos das mãos na ponta dos pés) era ainda pior. Mesmo assim, era necessário manter a forma! Enquanto o sr. Macgregor se esticava dolorosamente na direção dos dedos dos pés, um matiz de vermelho-tijolo subia de seu pescoço e congestionava seu rosto numa ameaça de apoplexia. O suor brilhava em suas mamas imensas e caídas. Tinha de se esticar, mais um pouco! Precisava manter-se em forma a todo custo. Mohammed Ali, o seu criado pessoal, com as roupas limpas do patrão pendendo do braço, assistia àquilo pela porta entreaberta. Seu rosto amarelado, estreito e de traços árabes não exprimia nem compreensão nem curiosidade. Ele vinha assistindo àquelas contorções — um sacrifício, imaginava ele de modo vago, a algum deus misterioso e implacável — todas as manhãs havia cinco anos. Ao mesmo tempo, também, Westfield, que saíra cedo de casa, apoiava-se na mesa arranhada e manchada de tinta da delegacia de polícia, enquanto o gordo subinspetor interrogava um suspeito ladeado por dois policiais de uniforme. O suspeito era um homem de quarenta anos, com um rosto pálido e assustado, vestindo apenas um longyi esfarrapado amarrado nos joelhos, abaixo dos quais se viam suas canelas finas e tortas, marcadas por mordidas de carrapatos. “Quem é ele?”, perguntou Westfield. “Ladrão. Foi encontrado com este anel de duas esmeraldas, muito caro. Sem explicação. Como é que ele — um coolie pobre — poderia ter um anel de esmeralda? Só pode ter sido roubado.” Virou-se ferozmente para o suspeito, avançando seu rosto à moda de um gato caçador até quase encostar no do outro, e rugiu com voz fortíssima: “Você roubou o anel!”
“Não.” “Você já esteve preso!” “Não.” “Vire-se!”, berrou o subinspetor, que tivera uma idéia inspirada. “Abaixe a cabeça!” O sujeito virou o rosto pálido e aflito para Westfield, que desviou os olhos. Os dois policiais agarraram-no, viraram-no de costas e forçaram-no a inclinar-se; o subinspetor arrancou seu longyi, expondo suas nádegas. “Olhe só, comissário!” E apontou para antigas cicatrizes. “Ele já foi açoitado com varas de bambu. É criminoso condenado. Só pode ter roubado o anel!” “Está bem, levem-no para a cela”, disse Westfield de modo distraído, enquanto se afastava da mesa com as mãos nos bolsos. No fundo ele detestava prender aqueles pobres-diabos, os ladrões comuns. Bandoleiros, rebeldes — sim; mas não aqueles pobres coitados! “Quantos homens já estão na tranca, Maung Ba?”, perguntou ele. “Três, senhor.” A cela ficava no andar de cima, uma gaiola cercada por barras de madeira de quinze centímetros de espessura, guardada por um policial armado de fuzil. Fazia um calor sufocante, estava praticamente escuro e o espaço da cela estava vazio, salvo por uma latrina de barro que fedia horrivelmente. Havia dois prisioneiros acocorados junto às barras de madeira, mantendo distância do terceiro, um coolie indiano coberto de sarna da cabeça aos pés, como uma cota de malha. Uma birmanesa corpulenta, mulher de um dos policiais, estava ajoelhada do lado de fora da cela, transferindo arroz e dahl aguado para cuias de metal. “A comida está boa?”, perguntou Westfield. “Está boa, sagrado senhor”, responderam em coro os prisioneiros. O governo financiava a alimentação dos prisioneiros à razão de dois annas e meio por refeição individual, dos quais a mulher do policial devia lucrar pelo menos um anna. Flory saiu caminhando pela área ocupada pelos europeus, enterrando as ervas daninhas no solo com a ponta da bengala. Àquela hora da manhã tudo se mostrava coberto por cores lindas e atenuadas — o verde suave das folhas, o castanho rosado da terra e dos troncos —, como tons diluídos de aquarela fadados a desaparecer sob a luz mais forte do resto do dia. Mais adiante, no maidan, bandos de pequenas pombas pardas que voavam baixo perseguiam-se de um lado para o outro, e abelheiros verdeesmeralda faziam acrobacias aéreas que lembravam andorinhas mais lentas. Uma fila de varredores, cada qual com a carga que precisava jogar fora semi-escondida debaixo das roupas, caminhava para algum depósito de lixo à beira da floresta. Miseráveis famintos, com pernas que pareciam gravetos e joelhos fracos demais para sustentar as pernas esticadas, envoltos em trapos cor de terra, lembravam uma procissão de amortalhados esqueletos ambulantes. O mali limpava o terreno para um novo canteiro de flores, junto ao pombal
próximo ao portão. Era um jovem hindu indolente e idiotizado, que vivia em silêncio quase completo porque falava algum dialeto de Manipur que ninguém mais entendia, nem mesmo sua mulher zerbadi. E a sua língua também era grande demais para a boca. Ele fez uma reverência profunda para Flory, cobrindo o rosto com a mão, e depois tornou a erguer seu mamootie e a golpear o solo seco com batidas pesadas e grosseiras, fazendo estremecer seus delgados músculos das costas. Um grito arranhado e agudo que soava como “quáááá!” veio do alojamento dos criados. As mulheres de Ko S’la tinham começado a querela de todas as manhãs. O galo de briga manso, chamado Nero, corria em ziguezague pelo caminho, nervoso com a presença de Flo, e Ba Pe apareceu com uma tigela de arroz e alimentou Nero e os pombos. Ouviram-se novos gritos vindos do alojamento dos criados, e as vozes mais graves de homens tentando apartar a briga. Ko S’la sofria muito com suas mulheres. Ma Pu, a primeira mulher, era uma mulher magra de feições duras, emagrecida por gestações sucessivas, e Ma Yi, a “mulher menor”, era mais gorda, mais moça e mais preguiçosa. As duas brigavam o tempo todo quando Flory estava na cidade e as duas ficavam juntas. Uma vez, quando Ma Pu perseguia Ko S’la com um bambu, ele se escondera atrás de Flory para se proteger e este levara uma pancada violenta na perna. O sr. Macgregor vinha subindo a estrada com passos animados, balançando um grosso cajado. Vestia uma camisa cáqui de tecido de pagri, calças curtas e um topi. Além de fazer seus exercícios, caminhava três quilômetros por dia todas as manhãs, quando tinha tempo. “Muito bom dia para você!”, gritou para Flory com uma animada voz matinal, imprimindo a ela um pouco de sotaque irlandês. Ele cultivava os modos bruscos e revigorantes de um banho gelado a essa hora da manhã. Além disso, como o artigo infamante do Patriota Birmanês, que ele tinha lido na noite anterior, o deixara magoado, ostentava uma animação especialmente forçada para encobrir seus sentimentos. “Bom dia!”, gritou Flory de volta, com a animação que conseguiu invocar. Saco de banha cretino!, pensou ele, acompanhando com os olhos o sr. Macgregor subir a estrada. Como o seu traseiro sobressaía naquelas calças justas e curtas. Parecia um desses cretinos de meia-idade que se tornam chefes de escoteiros, quase todos homossexuais, vistos nas fotografias das revistas ilustradas. Envergando aquelas roupas ridículas e expondo seus joelhos rechonchudos com as respectivas covinhas, porque é papel do pukka sahib exercitar-se antes do café-da-manhã — uma coisa repelente! Um birmanês apareceu no alto da encosta, um borrão de branco e magenta. Era o assistente de Flory, vindo do pequeno escritório que ficava perto da igreja. Ao chegar ao portão, fez uma reverência e entregou-lhe um envelope ensebado, carimbado, à moda birmanesa, na ponta da dobra colada.
“Bom dia, senhor Flory.” “Bom dia. O que é isso?” “Carta local, Excelência. Chegou no correio de hoje de manhã. E acho que é uma carta anônima.” “Ah, que aborrecimento. — Está bem, vou chegar ao escritório por volta das onze.” Flory abriu a carta. Estava escrita numa folha de papel ofício e dizia:
Sr. John Flory, Prezado Senhor, eu, abaixo-assinado, venho por meio desta pedir-lhe a licença de sugerir e ADVERTIR Sua Excelência quanto a algumas informações de utilidade que podem ser muito proveitosas para o senhor. Senhor, vem sendo percebida em Kyauktada a sua grande amizade e intimidade com o dr. Veraswami, o cirurgião civil, freqüentando o seu lar, convidando-o à sua casa etc. Sr. Flory, peço a sua licença para lhe informar que o dr. Veraswami NÃO É UM HOMEM DE BEM, e de modo algum merecedor da amizade de um cavalheiro europeu. O médico é uma pessoa eminentemente desonesta, desleal, e um funcionário corrupto. Ele fornece água tingida aos seus pacientes no hospital, enquanto vende os remédios por fora, além de aceitar suborno, praticar extorsão etc. Dois prisioneiros ele açoitou com varas de bambu, esfregando depois pimenta nas feridas se os parentes não lhe mandam dinheiro. Além disso, está envolvido com o Partido Nacionalista e ultimamente adiantou as informações para um artigo muito maldoso que saiu no Patriota Birmanês atacando o sr. Macgregor, o honrado vice-comissário. E também vem dormindo à força com pacientes mulheres no hospital. Portanto, esperamos que sua excelência DISPENSE A AMIZADE do dito dr. Veraswami e não se associe a pessoas que só podem trazer o mal para a pessoa de Vossa Excelência. Pediremos em nossas preces que Sua Senhoria se mantenha com saúde por longo tempo, e prosperando sempre, UM AMIGO
A carta tinha a letra redonda e trêmula do escritor de cartas do bazar, que lembrava um exercício de caligrafia feito por um bêbado. O escritor de cartas, porém, jamais usaria uma expressão como “dispensar a amizade”. A carta devia ter sido ditada por algum funcionário público e, sem dúvida, provinha em última instância de U Po Kyin. “O crocodilo”, pensou Flory. Não gostou do tom da carta. Debaixo de seu aparente tom servil, era uma evidente ameaça encoberta. “Pare de ver o médico ou as coisas ficarão difíceis para você”, era o que dizia. Não que fizesse muita diferença; nenhum inglês se sente realmente ameaçado por um oriental.
Flory hesitou, com a carta nas mãos. Há duas coisas que quem recebe uma carta anônima pode fazer. Não dizer nada ou então mostrá-la para a pessoa a quem diz respeito. A atitude óbvia e decente teria sido entregar a carta ao dr. Veraswami e deixá-lo reagir da maneira que preferisse. No entanto — era mais seguro ficar totalmente de fora daquele caso. Era muito importante (talvez o mais importante dos Dez Preceitos do pukka sahib) não se envolver nos conflitos “nativos”. Com os indianos, não pode haver lealdade, não pode haver verdadeira amizade. Afeto, até amor — sim. Muitas vezes os ingleses amam os indianos — funcionários nativos, guardas-florestais, caçadores, escreventes, empregados domésticos. Muitos cipaios choram como crianças quando o seu coronel se reforma. Até mesmo uma certa intimidade é admissível, nos momentos certos. Mas aliança, co-partidarismo, nunca! Até mesmo querer se inteirar de quem tem ou não razão num conflito “nativo” representa uma perda de prestígio. Se ele divulgasse a carta, haveria um tumulto e uma investigação oficial, e, para todos os efeitos, ele teria tomado o partido do médico contra U Po Kyin. U Po Kyin não fazia diferença, mas havia os outros europeus; se ele, Flory, tomasse o partido do médico de maneira muito evidente, poderia pagar caro por isso. Melhor fingir que nunca recebera a carta anônima. Ele achava o médico um bom sujeito, mas daí a chegar ao ponto de assumir sua defesa contra a fúria de todos os pukka sahibs — ah, isso não! O que um homem pode ganhar salvando a sua alma e ao mesmo tempo perdendo o mundo inteiro? Flory começou a rasgar a carta ao meio. O risco que correria por torná-la pública era muito diminuto, muito nebuloso. Mas na Índia, é preciso tomar cuidado com os riscos nebulosos. O prestígio, o segredo da vida, é ele próprio muito nebuloso. Rasgou cuidadosamente a carta em muitos pedacinhos e atirou-os por cima do portão. Naquele momento, ouviu-se um grito aterrorizado, muito diferente das vozes das mulheres de Ko S’la. O mali baixou seu mamootie e ficou olhando de boca aberta na direção do som, enquanto Ko S’la, que também ouvira, veio correndo, de cabeça descoberta, do alojamento dos criados, enquanto Flo se punha de pé e começava a soltar latidos de alerta. O grito se repetiu. Vinha da selva atrás da casa, e era uma voz inglesa, de mulher, berrando de pavor. Não havia caminho de saída do terreno pelos fundos. Flory saltou o portão e machucou o joelho numa farpa de madeira. Saiu correndo, contornando a cerca do terreno, e entrou na floresta, seguido por Flo. Logo atrás da casa, além da primeira barreira de moitas, havia uma depressão não muito grande que, como agora fora tomada por um lago de águas paradas, era freqüentada pelos búfalos da aldeia de Nyaunglebin. Flory avançou, atravessando a folhagem. No meio da depressão, uma moça inglesa, com o rosto branco como giz, encolhia-se apoiada a um arbusto, enquanto um búfalo imenso a ameaçava com seus chifres em forma de crescente. Havia um bezerro peludo, sem dúvida a causa do incidente, atrás do animal. Outro
búfalo, afundado até o pescoço no lodo do laguinho, contemplava a cena com uma branda expressão pré-histórica na cara, perguntando-se qual seria o motivo de tanta comoção. A moça virou o rosto angustiado para Flory, quando ele apareceu. “Ah, faça alguma coisa logo!”, gritou ela, no tom urgente e irritado das pessoas muito assustadas. “Por favor! Me ajude! Me ajude!” Flory estava perplexo demais para perguntar qualquer coisa. Correu na direção dela e, na falta de uma bengala, deu um tapa forte no focinho do búfalo. Com um movimento tímido e assustado, o imenso animal virou-se de lado e depois se afastou trotando, seguido pelo filhote. O outro búfalo também se desenterrou do lodo e foi embora. A moça atirou-se contra Flory, quase aninhando-se em seus braços, transtornada pelo medo. “Oh, obrigada, obrigada! Ah, que criaturas horríveis! Que animais são esses? Achei que iam me matar. Que coisa pavorosa! Que bicho é esse?” “São búfalos d’água. Vieram da aldeia do outro lado.” “Búfalos?” “Não os búfalos selvagens, chamados de bisões. São só um tipo de gado bovino que os birmaneses criam. Parece que eles lhe deram um grande susto. Sinto muito.” Ela ainda segurava com força o braço dele, e Flory podia sentir o quanto estava trêmula. Olhou para baixo, mas não conseguiu ver o rosto da mulher, só o alto de sua cabeça, sem chapéu, com cabelos louros curtos como os de um menino. E mais uma das mãos que seguravam seu braço. Era alongada, esguia, jovem, com o pulso sardento de uma menina de escola. Fazia vários anos que ele não via uma mão como aquela. Tomou consciência do corpo macio e jovem encostado ao seu e do calor que irradiava; e ao vê-lo alguma coisa parecia ter degelado e aquecido dentro dele. “Está tudo bem, eles já foram embora”, disse ele. “Não precisa mais ter medo.” A moça se recuperava do susto e se afastou um pouco, mantendo só uma das mãos ainda apoiada no braço dele. “Eu estou bem”, disse ela. “Não foi nada. Não me machuquei. Não chegaram a encostar em mim. Foi só a feiúra deles.” “Na verdade, eles são praticamente inofensivos. Os chifres ficam tão atrás da cabeça que eles não conseguem usá-los para ferir as pessoas. São animais muito estúpidos. E só fingem a disposição de atacar quando estão com filhotes.” Agora os dois estavam mais distantes um do outro, e foram imediatamente tomados por um ligeiro acanhamento. Flory já se virara de lado, para manter oculta a face com a marca de nascença. E disse à jovem: “Que maneira mais estranha de sermos apresentados! Nem perguntei como você chegou até aqui. De onde veio... se me perdoa a pergunta direta.” “Do jardim da casa do meu tio. A manhã estava tão bonita que resolvi dar um passeio. E aí apareceram essas criaturas horrendas atrás de mim. Acabei de chegar a este país, entende?”
“O seu tio? Ah, claro! A sobrinha do senhor Lackersteen! Sabíamos da sua chegada. Então, vamos voltar logo para o maidan? Existe um caminho por aqui. Mas que começo para a sua primeira manhã em Kyauktada! Talvez fique com má impressão da Birmânia.” “Ah, não; só que tudo aqui é muito diferente. Como as plantas crescem fechadas! Todas emaranhadas umas nas outras e com um ar pouco familiar. Aqui a pessoa pode se perder de uma hora para outra. É isso, a jângal?” “Não, é só um trecho de mata mais fechada. Mas quase toda a Birmânia é coberta de jângal, ou floresta — um país verde e desagradável, como eu costumo dizer. E eu não pisaria na grama, se fosse a senhorita. As sementes entram nas meias e incomodam muito a pele.” Deixou a jovem seguir à sua frente, sentindo-se mais à vontade enquanto ela não pudesse ver seu rosto. Era até alta para uma mulher, esguia, e usava um vestido fechado de algodão lilás. Pela maneira como caminhava, ele calculou que não tivesse muito mais do que vinte anos. Ele ainda não examinara seu rosto, só vira que ela usava óculos redondos de aro de tartaruga e cabelos curtos como os dele. Jamais tinha visto uma mulher de cabelo tão curto fora das páginas das revistas ilustradas. Quando emergiram no maidan, eles se emparelharam e ela o olhou de frente. Tinha um rosto oval, com traços delicados e regulares; talvez não fosse linda, mas pareceu muito bela a Flory ali na Birmânia, onde as inglesas eram sempre amarelas e muito magras. Ele virou bruscamente a cabeça para o lado, embora sua marca de nascença estivesse invisível para ela. Não suportaria ter seu rosto examinado tão atentamente por aquela jovem. Sentia como se a pele mais curtida em torno dos olhos estivesse em carne viva. Mas lembrou-se de que havia se barbeado, o que lhe deu alguma coragem. E disse: “A senhorita deve estar um pouco abalada depois desse incidente. Quer entrar e descansar um pouco antes de voltar para casa? E também já está tarde para andar do lado de fora sem chapéu.” “Ah, obrigada, aceito”, disse ela. Tudo indicava que ela ignorava por completo as noções indianas de boas maneiras e comportamento adequado. “Esta é a sua casa?” “É. Vamos entrar pela frente. Vou pedir aos criados que lhe arranjem uma sombrinha. Este sol é perigoso para a senhorita, com o seu cabelo curto.” Entraram pelo caminho do jardim. Flo corria em torno dos dois, tentando chamar a atenção. Ela sempre latia para orientais desconhecidos, mas gostava do cheiro dos europeus. O sol estava ficando mais forte. Uma lufada de aroma de amoras emanou das petúnias que ladeavam o caminho, e um dos pombos pousou no chão batendo as asas, para tornar a levantar vôo na mesma hora quando Flo lhe deu um bote. Flory e a moça pararam como que de comum acordo, para olhar as flores. Ambos tinham sentido uma pontada inexplicável de felicidade. “A senhorita realmente não devia ficar neste sol sem chapéu”, repetiu ele, e de alguma forma havia certa intimidade nessas palavras. Ele não conseguia deixar de
pensar nos cabelos curtos dela, que lhe pareciam lindos. Falar deles era como acariciá-los com a mão. “Olhe, o seu joelho está sangrando”, disse a jovem. “O senhor se feriu quando foi me salvar?” Havia algum sangue escorrido, que já secava, arroxeado, nas meias cáqui dele. “Não é nada”, disse Flory, mas naquele momento nenhum dos dois achou que não fosse nada. Começaram a conversar com uma animação extraordinária sobre as flores. A jovem “adorava” flores, declarou. E Flory a conduziu pelo caminho, falando muito sobre uma ou outra planta. “Veja como crescem essas floxes. Aqui elas ficam em flor por seis meses. Nunca se cansam do sol. Estas amarelas são quase da cor de prímulas. Faz quinze anos que não vejo uma prímula nem um goivo. Essas zínias estão bonitas, não acha? — parecem flores pintadas, com aquelas maravilhosas cores desmaiadas. Estas aqui são margaridas africanas. São bem grosseiras, quase ervas daninhas, mas praticamente irresistíveis, de tão coloridas e fortes. Os indianos sentem um verdadeiro encanto por elas; por onde quer que eles tenham passado, você encontra canteiros de margaridas, mesmo anos mais tarde, quando a selva já apagou todos os outros sinais da sua passagem. Mas a senhorita devia vir até a varanda para ver as orquídeas. Algumas parecem sinetas de ouro — sem exagero, de ouro. E cheiram a mel, com um perfume muito forte. É praticamente o único encanto deste país detestável: é bom para as flores. Espero que a senhorita goste de jardinagem. É o nosso maior consolo neste país.” “Ah, eu simplesmente adoro”, respondeu ela. Chegaram à varanda. Ko S’la, às pressas, tinha vestido o ingyi e sua melhor gaungbaung de seda cor-de-rosa, e apareceu vindo do interior da casa com uma bandeja em que trazia uma garrafa de gim, copos e uma cigarreira. Pousou tudo na mesa e, olhando apreensivo para a jovem, uniu as palmas das mãos e fez uma reverência. “Imagino que não seja o caso de oferecer-lhe uma bebida forte a esta hora”, disse Flory. “Não consigo convencer o meu criado de que algumas pessoas podem sobreviver sem tomar gim antes do café-da-manhã.” E incluiu-se no rol, recusando com um gesto a bebida que Ko S’la lhe oferecia. A moça sentara-se na cadeira de vime que Ko S’la arrumara para ela na ponta da varanda. As orquídeas de folhas escuras pendiam atrás de sua cabeça, exibindo cachos dourados de flores que emanavam um aroma cálido de mel. Flory se apoiava na balaustrada da varanda, meio de frente para a jovem, mas mantendo oculta a face com a marca de nascença. “Que vista divina o senhor tem daqui”, disse ela contemplando a encosta. “É mesmo, não é? Esplêndida, quando a luz está assim amarelada, antes de o sol ficar muito alto. Adoro essa cor amarelo-escura, meio ocre, do maidan, e os
flamboyants também dourados, como manchas de vermelho. E os morros ao longe, quase negros. O meu acampamento fica do outro lado dessas montanhas”, acrescentou. A jovem, que era hipermetrope, tirou os óculos para olhar à distância. E ele percebeu que os olhos dela eram de um azul muito claro, mais claro que uma campânula. E reparou na maciez da pele que rodeava os olhos dela, quase lembrando uma pétala. Aquilo o fez lembrar-se de sua própria idade e novamente de seu rosto devastado, de maneira que procurou afastar-se um pouco mais da jovem. Mas disse, num impulso: “Que sorte a senhorita ter vindo para Kyauktada! Não pode imaginar que diferença faz para nós ver um rosto novo num lugar como este. Depois de meses limitados à nossa pobre sociedade local, além de um e outro funcionário ocasional em visita de inspeção ou de algum globe-trotter americano subindo o Irrawaddy com sua câmera. A senhorita veio direto da Inglaterra?” “Bem, não exatamente da Inglaterra. Eu morava em Paris antes de vir para cá. Minha mãe era artista, sabe.” “Paris! A senhorita morou mesmo em Paris? Imagine só, vir direto de Paris para Kyauktada! Pois é muito difícil, aqui neste buraco, acreditar que lugares como Paris sequer existam!” “O senhor gosta de Paris?”, perguntou ela. “Nunca cheguei sequer a ver Paris. Mas quantas vezes já imaginei a cidade! Paris, uma enxurrada de imagens na minha imaginação; os cafés, os bulevares, os ateliers dos artistas, Villon, Baudelaire e Maupassant, tudo misturado. A senhorita não imagina como o nome das grandes cidades européias soa para nós aqui. E a senhorita viveu mesmo em Paris? Sentou-se em cafés com estudantes estrangeiros de arte, tomando vinho branco e conversando sobre Marcel Proust?” “Ah, todo esse tipo de coisa”, respondeu a jovem, rindo. “Pois vai sentir uma grande diferença! Aqui, nada de vinho branco nem de Proust. Estamos mais para uísque e Edgar Wallace. Mas se algum dia quiser algum livro, pode encontrar alguma coisa interessante entre os meus. A biblioteca do Clube só tem coisas imprestáveis. Mas é claro que os meus estão bastante atrasados. Imagino que já tenha lido tudo que foi publicado.” “Ah, não. Mas é claro que eu adoro ler”, disse a jovem. “Ah, como é bom encontrar alguém que gosta de livros! Eu me refiro aos livros que vale a pena ler, não àquele lixo da biblioteca do Clube. Espero que me perdoe por falar tanto assim. Quando encontro alguém que pelo menos já ouviu falar na existência de livros, eu me destampo na hora, como uma garrafa de cerveja quente. É um defeito que a senhorita precisa perdoar nestas paragens.” “Ah, mas eu adoro conversar sobre livros. Acho a leitura uma coisa maravilhosa. Quer dizer, imagine a vida sem ler. Seria como... como...” “Como uma verdadeira Alsácia particular. Sim...”
E mergulharam numa interminável e sequiosa conversa, primeiro sobre livros, depois sobre a caça, pela qual a moça parecia se interessar e sobre a qual convenceu Flory a discorrer. Ficou muito excitada quando ele descreveu o assassinato de um elefante que ele perpetrara anos antes. Flory mal percebeu, e a moça talvez tampouco, que só ele falava o tempo todo. Ele não conseguia se conter, a alegria daquele matraquear era imensa. E a jovem estava disposta a ouvir. Afinal, ele a salvara dos búfalos, e ainda não estava de todo convencida de que aqueles monstros pudessem ser de fato inofensivos; por enquanto, ele era quase um herói aos olhos dela. Quando a pessoa conquista algum crédito na vida, geralmente é por algo que não fez. Mas aquela era uma dessas ocasiões em que a conversa flui com tamanha facilidade, com tamanha naturalidade, que poderia durar para sempre. De repente, porém, o prazer dos dois se evaporou, eles pararam de falar e se calaram. Perceberam que não estavam mais a sós. Na outra ponta da varanda, além da balaustrada, um rosto preto como carvão, adornado por um bigode, os contemplava com enorme curiosidade. Pertencia ao velho Sammy, o cozinheiro “mug”. Atrás dele estavam Ma Pu, Ma Yi, os quatro filhos mais velhos de Ko S’la, uma criança nua sem a mãe e duas velhas que tinham vindo da aldeia depois de ouvirem a notícia da aparição de uma “Ingaleikma”. Como estátuas escavadas em teca com charutos de palmo e meio enfiados no rosto de madeira, as duas idosas criaturas não tiravam os olhos da “Ingaleikma”, assim como os habitantes do interior da Inglaterra ficariam de olhos arregalados diante de um guerreiro zulu paramentado com todas as suas armas e adereços. “Essas pessoas...”, disse a jovem em tom constrangido, olhando para elas. Sammy, ao se ver descoberto, exibiu um ar muito culpado e fez de conta que arrumava seu pagri. O restante da platéia mostrou-se um pouco embaraçada, com exceção das duas velhas. “É muita ousadia desses malditos!”, disse Flory. Sentiu uma pontada fria de decepção. No fim das contas, a jovem não poderia mais ficar na varanda. Ao mesmo tempo, tanto ele como ela se lembraram de que eram totalmente estranhos um ao outro. O rosto da jovem ficou bastante corado. E ela começou a pôr os óculos. “Creio que uma jovem inglesa é novidade demais para essas pessoas”, disse Flory. “Não têm nenhuma má intenção. Vão embora!”, acrescentou em tom irritado, abanando as mãos para a platéia, e todos desapareceram. “Sabe, se não se incomoda, acho que está na hora de eu ir embora”, disse a jovem. Tinha se levantado. “Já faz muito tempo que saí de casa. Podem estar se perguntando por onde andarei a esta altura.” “Precisa mesmo ir? Ainda é cedo. Vou cuidar para que a senhorita não volte para casa com a cabeça exposta ao sol.” “Mas eu preciso mesmo...”, recomeçou ela. E parou, olhando para a porta. Ma Hla May surgia na varanda.
Ma Hla May adiantou-se com a mão no quadril. Saía de dentro da casa, com um ar calmo que afirmava o seu direito de estar ali. As duas jovens se encararam, a menos de seis passos uma da outra. E o contraste não poderia ser mais estranho; uma com as cores suaves de um botão de macieira, a outra morena e exótica, com um brilho quase metálico no cilindro negro formado por seus cabelos e na cor rosa-salmão da seda de seu longyi. Flory pensou que nunca tinha percebido como o rosto de Ma Hla May era escuro, e como era fora do comum seu corpo miúdo e rígido, reto como o de um soldado, sem nenhuma saliência notável, salvo a curva acentuada dos quadris. Ele se apoiou na balaustrada da varanda e ficou observando as duas jovens, praticamente ignorado por elas. Por quase um minuto, nenhuma delas conseguiu despregar os olhos da outra; mas qual achava o espetáculo mais grotesco, mais inacreditável, não há como dizer. Ma Hla May virou-se para Flory com as sobrancelhas, finas como linhas de lápis, bem próximas uma da outra. “Quem é esta mulher?”, perguntou em tom grave. E ele respondeu despreocupado, como se desse ordens a uma criada: “Vá embora imediatamente. Se causar algum problema, mais tarde vou pegar um bambu e dar-lhe uma surra que vai partir todas as suas costelas.” Ma Hla May hesitou, encolheu os ombros miúdos e desapareceu. E a outra, acompanhando-a com os olhos, perguntou, curiosa: “Era um homem ou uma mulher?” “Uma mulher”, respondeu ele. “Acho que é casada com um dos criados. Veio perguntar pela roupa suja, só isso.” “Ah, então é assim que são as mulheres birmanesas? Criaturinhas bem estranhas mesmo! Vi muitas delas do trem, a caminho daqui, mas, sabe, achei que fossem meninos. Parecem umas bonequinhas de louça holandesa, não é?” Começara a dirigir-se para os degraus da varanda, tendo-se desinteressado de Ma Hla May, agora que ela desaparecera. Ele não a deteve, pois achava que Ma Hla May bem que era capaz de reaparecer e fazer uma cena. Não que isso tivesse muita importância, porque nenhuma das duas jovens entendia a língua da outra. Chamou Ko S’la, e Ko S’la apareceu correndo com uma grande sombrinha de seda oleada com armação de bambu. Ele abriu respeitosamente a sombrinha ao pé da escada e segurou-a acima da cabeça da jovem enquanto ela descia. Flory acompanhou os dois até o portão. Pararam para trocar um aperto de mãos, ele um pouco virado de lado sob o sol forte, escondendo a marca de nascença. “Meu empregado vai acompanhá-la até em casa. Foi muita gentileza sua vir me visitar. Não tenho palavras para dizer o quanto fico feliz de tê-la conhecido. A senhorita vai fazer uma grande diferença para todos nós que vivemos aqui em Kyauktada.” “Até logo, senhor... ah, que engraçado! Nem sei o seu nome.” “Flory. John Flory. E o seu... senhorita Lackersteen, é isso?” “Isso mesmo. Elizabeth. Até logo, senhor Flory. E, mais uma vez, muito obrigada.
Que horror, aquele búfalo! O senhor praticamente salvou a minha vida.” “Não foi nada. Espero tornar a vê-la no Clube hoje à noite. Imagino que seu tio e sua tia vão aparecer por lá. Até logo por enquanto, então.” Ficou parado no portão, olhando os dois se afastarem. Elizabeth — um lindo nome, tão raro nos dias de hoje. Esperava que se escrevesse com “z”. Ko S’la trotava atrás dela numa postura estranha e desconfortável, segurando a sombrinha bem alto acima da cabeça da jovem e mantendo o corpo o mais afastado que podia. Um vento fresco soprou encosta acima. Era uma dessas brisas inesperadas que às vezes surgem no meio do tempo frio na Birmânia, vinda de lugar nenhum, despertando nas pessoas a sede e a nostalgia de enseadas de mar frio, abraços de sereias, cachoeiras, cavernas de gelo. A brisa agitou as copas largas dos flamboyants dourados e soprou para longe os fragmentos da carta anônima que Flory jogara por cima do portão meia hora antes.
*
7.
Elizabeth estava estendida no sofá da sala da casa dos Lackersteen, com os pés para cima e a cabeça apoiada numa almofada, lendo Esssas pessoas encantadoras, de Michael Arlen. De maneira geral, Michael Arlen era seu escritor predileto, mas tendia a preferir William J. Locke quando queria coisa mais séria. A sala era um aposento fresco, pintado em cores claras, com paredes caiadas de quase um metro de espessura; era grande, mas parecia menor do que era devido ao atulhamento de mesinhas e ornamentos de metal de Benares. Cheirava a schintz e a flores murchas. A sra. Lackersteen dormia no andar de cima. Do lado de fora, os criados faziam silêncio nos alojamentos, a cabeça presa ao travesseiro de madeira pelo sono mortal do meio-dia. O sr. Lackersteen, em seu pequeno escritório de madeira situado um pouco adiante na mesma rua, também devia estar adormecido. Os únicos que se moviam eram Elizabeth e o chokra que puxava os cordões do punkah do lado de fora do quarto da sra. Lackersteen, deitado de costas, com um dos pés enfiados num laço da corda. Elizabeth acabara de completar vinte e dois anos e era órfã. Seu pai havia bebido menos que o irmão dele, Tom, contudo fora um homem de caráter similar. Dedicarase ao comércio do chá, e sua fortuna sempre oscilara muito, mas por natureza sempre se mostrara otimista demais para reservar algum dinheiro nas fases de prosperidade. A mãe de Elizabeth tinha sido uma mulher incapaz, pouco inteligente, arrogante e autocomplacente, que se esquivava a todos os deveres normais da vida alegando sensibilidades que na verdade não possuía. Após passar anos a fio envolvida com questões como o Sufrágio Feminino ou práticas esotéricas, e fazendo várias tentativas malsucedidas de criação literária, finalmente decidira dedicar-se à pintura. A pintura é a única arte que pode ser praticada sem talento nem muito trabalho. A sra. Lackersteen ostentava uma pose de artista exilada em meio aos “filisteus” — entre os quais, nem é preciso dizer, incluía o marido —, e essa pose lhe abria um campo quase ilimitado para o exercício da antipatia. No último ano da Guerra, o sr. Lackersteen, que conseguira evitar a convocação para servir no Exército, ganhou muito dinheiro, e logo depois do Armistício a família se mudou para uma casa nova, grande e sem muitos atrativos em Highgate, com uma enorme quantidade de estufas, canteiros, estábulos e quadras de tênis. O sr. Lackersteen contratou uma horda de criados, e até mesmo, tão grande era o seu otimismo, um mordomo. Elizabeth foi enviada a um colégio interno muito caro por dois anos letivos. Oh, a alegria, a alegria, a alegria inesquecível desses dois anos! Quatro das meninas da escola eram da alta nobreza; quase todas tinham o próprio cavalo, que lhes era permitido montar nas tardes de sábado. Existe na vida de todas as pessoas um curto período em que seu caráter se fixa para sempre; no caso de Elizabeth, foram esses dois anos de íntimo convívio com os ricos. A partir de então, todo o seu código de valores podia se resumir a uma única idéia, a uma noção
simples. O que é Bom (e ela chamava de “adorável”) é sinônimo de caro, elegante, aristocrático; e o que é Mau (“intragável”) é o barato, o ordinário, o pobre, o laborioso. Talvez seja para ensinar esse credo que existem as escolas caras para moças. O sentimento foi se tornando mais sutil à medida que Elizabeth ficava mais velha, difundindo-se por todos os seus pensamentos. Tudo, de um par de meias à alma humana, era classificado como “adorável” ou “intragável”. E infelizmente — uma vez que a prosperidade do sr. Lackersteen não durou muito — foi o “intragável” que acabou predominando em sua vida. A queda inevitável veio no final de 1919. Elizabeth foi retirada da escola para continuar sua formação numa sucessão de colégios baratos e intragáveis, com lacunas de um ou dois anos toda vez que seu pai ficava sem condições de pagar seus estudos. Ele morreu quando ela tinha vinte anos, de gripe. A sra. Lackersteen ficou com uma renda de cento e cinqüenta libras por ano, que se extinguiria com a sua morte. As duas mulheres não tinham como viver, sob a gestão da sra. Lackersteen, com três libras por semana na Inglaterra. Mudaram-se para Paris, onde a vida era mais barata e onde a sra. Lackersteen planejava dedicar-se integralmente às artes. Paris! Viver em Paris! Flory errara bastante o alvo, quando imaginara aquelas conversas intermináveis com artistas barbados à sombra de plátanos verdes. A vida de Elizabeth em Paris não fora exatamente assim. Sua mãe alugara um studio em Montparnasse e de imediato recaíra numa ociosidade miserável e preguiçosa. Era tão desajeitada com o dinheiro que sua renda mal bastava para cobrir as despesas, e por vários meses Elizabeth nem teve o suficiente para comer. Então encontrou um emprego como professora de inglês para a família de um gerente de banco francês, que a chamava de notre miss Anglaise. O bancário morava no 12º- arrondissement, muito longe de Montparnasse, e Elizabeth acabou alugando um quarto numa pension perto da casa da família. Era uma casa estreita de fachada amarela, numa rua transversal, que dava para uma casa de aves, ovos e caça, geralmente decorada com as carcaças malcheirosas de javalis que cavalheiros velhos, parecidos com sátiros decrépitos, vinham visitar todas as manhãs e farejar com haustos prolongados e amorosos. Ao lado da casa de aves, ficava um café obscuro com a placa “Café de l’Amitié. Bock Formidable”. Ah, como Elizabeth detestava aquela pension! A patronne era uma criatura mesquinha e traiçoeira, sempre vestida de negro, que passava a vida subindo e descendo as escadas na ponta dos pés, na esperança de surpreender alguma hóspede lavando as meias na pia do quarto. As hóspedes, viúvas biliosas de língua afiada, assediavam o único homem do estabelecimento, uma criatura calva e amena que trabalhava no grand magasin La Samaritaine, com a avidez de andorinhas em torno de um pedaço de pão. À mesa, todas vigiavam o prato da vizinha para ver quem recebia a maior porção. O banheiro era um covil escuro com paredes repulsivas e uma gemebunda torneira cor de azinhavre que costumava recusar-se a continuar funcionando depois de a custo cuspir cinco centímetros de água tépida no fundo da banheira. O gerente de banco a
cujos filhos Elizabeth ensinava inglês era um homem de cinqüenta anos com um rosto gordo e gasto e um crânio calvo e amarelo-escuro que lembrava um ovo de avestruz. No segundo dia de trabalho de Elizabeth, ele entrou na sala onde as crianças recebiam as aulas, sentou-se ao lado dela e imediatamente beliscou-lhe o cotovelo. No terceiro dia, deu-lhe um beliscão na perna, no quarto dia atrás do joelho, no quinto dia pouco acima da coxa. A partir de então, todo fim de tarde, uma batalha silenciosa se travava entre os dois, ela com a mão debaixo da mesa, forcejando para manter aquelas garras implacáveis longe de seu corpo. Era uma existência pobre e intragável. Na realidade, atingia níveis de “intragabilidade” que Elizabeth até então nem sequer sabia serem possíveis. Mas o que mais a deprimia, o que mais lhe dava a sensação de mergulho em algum horroroso mundo inferior, era o studio de sua mãe. A sra. Lackersteen era uma dessas pessoas que se viam totalmente desamparadas quando não tinham a quem dar ordens. Vivia num pesadelo agitado entre a pintura e os cuidados com a casa, e jamais conseguia lidar nem com uma coisa nem com outra. A intervalos irregulares, comparecia a uma “escola” onde produzia naturezas-mortas em tons de cinza sob a orientação de um mestre cuja técnica se pautava basicamente pelo uso de pincéis sujos; quanto ao resto, sofria miseravelmente ao se engalfinhar em casa com seus bules de chá e frigideiras. O estado do seu studio era mais que deprimente para Elizabeth; era infernal, demoníaco. Transformara-se num chiqueiro frio e empoeirado, com pilhas de livros e jornais espalhadas pelo piso, gerações de caçarolas dormitando cheias de gordura sobre o fogão a gás enferrujado, a cama sempre desfeita até o meio da tarde, e por toda parte — espalhadas em todos os recantos onde pudessem ser pisadas ou derrubadas — latas de terebintina sujas de tinta e bules cheios de chá preto frio. Se você levantasse a almofada de uma cadeira, encontraria um prato com restos de um ovo quente. Assim que Elizabeth entrava pela porta, explodia: “Oh, mamãe, minha querida mãe, como é que você agüenta? Olhe o estado deste quarto! Que coisa terrível, viver dessa maneira!” “O quarto, minha filha? Qual é o problema? Está desarrumado?” “Desarrumado? Mamãe, você precisa mesmo deixar o prato de mingau no meio da cama? E as panelas? Que coisa mais horrível. E se alguém chegasse?” O ar vago e desligado que a sra. Lackersteen assumia quando confrontada com qualquer coisa que pudesse resultar em trabalho assomava-lhe aos olhos. “Nenhum dos meus amigos haveria de se incomodar, querida. Somos tão boêmios, nós, os artistas. Você não entende a que ponto estamos envolvidos com a nossa pintura. É que você não tem um temperamento artístico.” “Mas vou tentar lavar algumas das suas panelas. Não agüento pensar em você vivendo desse modo. O que você fez com a escovinha da pia?” “A escovinha? Deixe ver se me lembro, eu sei que vi em algum lugar. Ah, sim!
Usei ontem para limpar a minha palheta. Mas se você lavar bem com terebintina volta a funcionar perfeitamente.” A sra. Lackersteen ficava sentada, produzindo mais manchas numa folha de papel de desenho com um lápis Conté, enquanto Elizabeth trabalhava. “Você é maravilhosa, querida. Tão prática! Nem imagino de quem você herdou isso. Para mim, a arte é simplesmente tudo. A sensação é de que ela é um Mar imenso, transbordando de dentro de mim, lavando da existência tudo que é pequeno e mesquinho. Ontem eu comi o meu almoço em cima das páginas do Nash Magazine, para não ter de perder tempo lavando pratos. Uma ótima idéia! Quando você precisa de um prato limpo, é só arrancar uma folha” etc. etc. etc. Elizabeth não tinha amigos em Paris. As amigas de sua mãe eram mulheres da mesma espécie dela, ou solteironas velhas e incompetentes que viviam de pequenas rendas e praticando meias artes risíveis como gravura em madeira ou pintura em porcelana. De resto, Elizabeth só via estrangeiros, e os estrangeiros en bloc lhe desagradavam, ou pelo menos os homens, com suas roupas de aparência barata e seus modos revoltantes à mesa. Nessa época, ela só tinha um grande consolo. Era ir até a biblioteca americana, na Rue de l’Elysée, e folhear as revistas ilustradas. Às vezes, num domingo, ou numa tarde de folga, ela passava horas sentada à grande mesa envernizada, sonhando enquanto folheava a Sketch, a Tatler, a Graphic, a Sporting e a Dramatic. Ah, quantas alegrias elas mostravam! “Os cães de caça reunidos no gramado de Charlton Hall, a adorável herdade de lorde Burrowdean em Warwickshire.” “A Exma. Sra. Tyke-Bowlby no parque, acompanhada de seu esplêndido cão alsaciano, Kublai Khan, segundo lugar na exposição do último verão na Cruft’s.” “Banho de sol em Cannes. Da esquerda para a direita: srta. Barbara Pilbrick, sir Edward Tuke, lady Pamela Westrope e o capitão ‘Tuppy’ Benacre.” Adorável, simplesmente adorável, o mundo do brilho e da elegância! Em duas ocasiões, o rosto de ex-colegas de turma contemplou Elizabeth das páginas ilustradas, o que lhe causou uma pontada no peito. Lá estavam todas elas, as suas antigas companheiras de colégio, com seus cavalos, seus automóveis e um marido servindo na Cavalaria; e ali estava ela, presa àquele emprego horrível, a essa horrenda pension, à sua mãe horrorosa! Será que não havia mesmo escapatória? Estaria condenada a passar o resto dos dias naquela pobreza sórdida, sem nenhuma esperança de um dia retornar ao mundo decente? Não deixava de ser natural, tendo o exemplo da mãe diante de seus olhos, que Elizabeth nutrisse um ódio saudável pelas artes. Na verdade, qualquer excesso de intelecto — ou “pensar demais”, como ela dizia — tendia a se tornar, a seus olhos, uma coisa da ordem do “intragável”. As pessoas de verdade, achava ela, as pessoas decentes — as pessoas que caçavam perdizes, iam a Ascot, velejavam em Cowes — não eram dadas a pensar demais. Não se entregavam a bobagens da ordem de escrever livros ou mexer com pincéis; nem se metiam com essas “idéias elevadas”
— como o socialismo e tudo o mais. “Idéias elevadas” era uma expressão amarga em seu vocabulário. E quando ocorria, como uma ou duas vezes de fato ocorreu, de ela conhecer um artista autêntico, que preferia trabalhar a vida inteira sem ganhar um tostão a vender-se a um banco ou a uma companhia de seguros, ela o desprezava ainda mais do que desprezava as artistas diletantes do círculo de sua mãe. A idéia de que um homem pudesse decidir virar as costas a tudo que era bom e decente por vontade própria, e sacrificar-se por uma futilidade que não levava a nada, parecialhe absurda, degradante, perniciosa. Ela tinha medo de terminar solteirona, mas preferia mil vezes ficar sozinha para sempre a se casar com um homem assim. Quando já fazia quase dois anos que Elizabeth estava em Paris, sua mãe morreu inesperadamente de envenenamento por ptomaína. O espantoso é que não tenha morrido antes dessa mesma causa. A Elizabeth restaram menos de cem libras no mundo. Seu tio e sua tia lhe telegrafaram na mesma hora da Birmânia, convidando-a para ir ficar com eles e dizendo que logo lhe mandariam uma carta. A sra. Lackersteen levara um longo tempo refletindo antes de escrever a carta, com a caneta entre os lábios, olhando para a folha de papel em branco com seu delicado rosto triangular, como uma serpente meditativa. “Acho que precisamos acolhê-la aqui por ao menos um ano. Que coisa mais aborrecida! De qualquer maneira, elas costumam se casar em um ano, se não são muito feias. O que eu digo a essa menina, Tom?” “O que você diz? Ora, que aqui ela pode encontrar um marido muito mais facilmente do que na Inglaterra. Alguma coisa nesse sentido.” “Ora, Tom, querido! As coisas incríveis que você diz!” E a sra. Lackersteen escreveu:
Claro que aqui é um lugar pequeno, e passamos boa parte do tempo na floresta. Sinto que você vai achar a vida na Birmânia terrivelmente tediosa, depois de todos os encantos de Paris. No entanto, de certa forma, esses lugares pequenos têm as suas vantagens para uma jovem. Ela logo se transforma numa espécie de rainha da sociedade local. Os homens solteiros vivem tão solitários que respondem da maneira mais magnífica à companhia de uma jovem etc. etc.
Elizabeth gastou trinta libras em vestidos de verão e zarpou sem perda de tempo. O navio, precedido por golfinhos saltitantes, atravessou o Mediterrâneo e o canal de Suez para chegar a um mar de um azul fixo e esmaltado, e em seguida às verdes extensões do oceano Índico, onde cardumes de peixes-voadores fugiam aterrorizados ante o avanço do casco. À noite as águas ficavam fosforescentes, e o rastro deixado pela proa lembrava uma ponta de flecha de fogo verde. Elizabeth “adorou” a vida a bordo do navio. Adorou dançar à noite no convés, os coquetéis que todos os passageiros e tripulantes homens pareciam ansiosos por lhe oferecer, os jogos, dos
quais, contudo, ela se cansou ao mesmo tempo que os outros membros da população mais jovem a bordo. Não a afetava em nada a morte de sua mãe ter ocorrido havia apenas dois meses. Ela jamais gostara muito da mãe e, além disso, ninguém mais ali sabia de sua vida. Como era bom, ao final daqueles dois anos desagradáveis, tornar a respirar o ar da riqueza. Não que todos ali fossem ricos; mas a bordo de um navio todo mundo se comporta como se fosse. Ela ia adorar a Índia, tinha certeza. Havia formado uma boa idéia de como era a vida na Índia com base no que diziam os outros passageiros; chegara até a aprender algumas expressões mais necessárias em hindustâni, como idher ao, jaldi, sahiblog etc. E já saboreava por antecipação a interessante atmosfera dos Clubes, com os punkahs abanando e rapazes descalços de turbante branco fazendo reverências; e os maidans, onde ingleses bronzeados com bigodinhos bem aparados galopavam de um lado para o outro, golpeando bolas de pólo. Era quase tão bom quanto ser rico de verdade, esse tipo de vida que as pessoas levavam na Índia. Chegaram a Colombo singrando águas verdes e vítreas, onde tartarugas e serpentes escuras boiavam ao sol. Uma frota de sampanas surgiu em velocidade para vir saudar o navio, impelidas por remadores negros como carvão com os lábios tintos de um vermelho mais intenso que o do sangue, por causa do suco da noz de bétel. Gritavam e se engalfinhavam em torno da rampa enquanto os passageiros desembarcavam. Quando Elizabeth e seus companheiros desciam do navio, dois sampan-wallahs, com as proas de suas sampanas raspando na rampa, dirigiram-se a eles aos gritos. “Não vá com ele, mocinha! Com ele não! Ele homem muito mau, não serve levar moça!” “Tudo mentira, mocinha! Sujeito muito mentiroso e trapaceiro! Vive pregando mentira. Coisa de nativo!” “Ha, ha! E ele não é nativo! Ah, não! Um europeu, pele branca feito a da moça. Ha ha!” “Parem já com isso, vocês dois, ou lhes dou um pontapé”, disse o marido da amiga de Elizabeth — o dono de uma plantation. Entraram numa das sampanas e foram transportados a remo na direção do cais batido pelo sol. E o sampan-wallah vitorioso virou-se para o rival, descarregando uma boca cheia de saliva que vinha acumulando havia muito tempo. Era assim, o Oriente. O aroma de óleo de coco e sândalo, canela e cúrcuma pairava acima das águas no ar quente e agitado. Os amigos de Elizabeth a levaram até o monte Lavinia, onde mergulharam num mar morno que espumava como CocaCola. Ela só voltou ao navio à noite, e uma semana depois chegaram a Rangoon. A norte de Mandalay o trem, movido a lenha, arrastava-se a trinta quilômetros por hora através de uma planície vasta e ressecada, delimitada em suas orlas mais remotas por fileiras azuis de montanhas. Garças brancas pousavam, imóveis, como cegonhas, e pilhas de pimentões vermelhos reluziam muito rubros ao sol. Às vezes,
um pagode branco erguia-se da planície como o seio de uma giganta deitada de costas. A noite tropical caiu cedo, e o trem seguia em frente sacolejando, devagar, parando em pequenas estações onde gritos bárbaros soavam na escuridão. Homens seminus com longos cabelos presos em um nó atrás da cabeça andavam de um lado para o outro à luz de archotes, assustadores como demônios, aos olhos de Elizabeth. O trem mergulhou na floresta, e galhos invisíveis roçavam contra as janelas. Eram quase nove horas quando chegaram a Kyauktada, onde o tio e a tia de Elizabeth estavam à sua espera com o carro do sr. Macgregor e alguns criados carregando tochas. Sua tia se adiantou e pousou nos ombros de Elizabeth as mãos delicadas de sáurio. “Você deve ser a nossa sobrinha Elizabeth... Estamos muito contentes de recebêla!”, disse ela e beijou a moça. O sr. Lackersteen olhou por cima do ombro da mulher à luz dos archotes. Deu um meio assobio, exclamou: “Ora, vejam só!” e então abraçou Elizabeth e deu-lhe um beijo, mais caloroso do que o necessário, pensou ela. Ela jamais vira os dois. Depois do jantar, debaixo do punkah da sala de estar, Elizabeth e a tia tiveram uma conversa reservada. O sr. Lackersteen passeava pelo jardim, para todos os efeitos a fim de apreciar o aroma dos jasmineiros, mas na verdade para sorver às escondidas a bebida que um dos criados lhe levava dos fundos da casa. “Minha querida, como você é bonita! Deixe eu vê-la melhor.” Tornou a pôr as mãos em seus ombros. “Acho que esse corte de cabelo curto lhe vai muito bem. Você fez em Paris?” “Foi. Todas as mulheres estavam cortando o cabelo curto. O corte fica bom se você tiver uma cabeça pequena.” “Adorável! E os óculos de armação de tartaruga — caem tão bem! Ouvi dizer que todas as, ahn... demi-mondaines da América do Sul adotaram esse tipo de óculos. Eu não tinha idéia de que a minha sobrinha era uma tamanha beldade! Qual é mesmo a sua idade, querida?” “Vinte e dois.” “Vinte e dois anos! Como os homens vão ficar encantados quando nós a levarmos amanhã ao Clube! Eles vivem tão solitários, coitados, e nunca vêem uma cara nova. E você passou dois anos inteiros em Paris? Não posso imaginar o que pode ter dado nos homens de lá para deixarem você ir embora ainda solteira.” “Infelizmente eu não conheci muitos homens, titia. Só estrangeiros. Precisávamos levar uma vida muito recolhida. E eu trabalhava”, acrescentou ela, julgando tratar-se de uma confissão vergonhosa. “Claro, claro”, suspirou a sra. Lackersteen. “Ouvimos histórias assim o tempo todo. Moças adoráveis obrigadas a trabalhar para ganhar a vida. É uma vergonha. Acho de um egoísmo tão terrível, não concorda, a maneira como esses homens insistem em continuar solteiros enquanto tantas moças pobres procuram marido...”
Elizabeth não respondeu, e a sra. Lackersteen acrescentou, com mais um suspiro: “Tenho certeza de que, se eu fosse jovem, eu me casaria com qualquer um, sem exagero, com qualquer um!”. As duas mulheres trocaram um olhar. Havia muitas coisas que a sra. Lackersteen queria dizer, mas não tinha a intenção de fazer mais do que sugeri-las de modo enviesado. Boa parte das conversas com ela se dava através de insinuações; geralmente, porém, ela conseguia deixar bem claro o que queria dizer. E adotou um tom afetuosamente impessoal, como se discutisse um tema de interesse geral, para prosseguir: “Claro que preciso dizer uma coisa. Existem casos em que as moças deixam de se casar por culpa delas próprias. E até mesmo por aqui isso ocorre de vez em quando. Lembro de um caso que aconteceu há pouco tempo: uma jovem que chegou e passou um ano inteiro na casa do irmão e teve propostas de todos os tipos de homem — policiais, guardas-florestais, funcionários das madeireiras com bons empregos. E recusou todas; pelo que eu soube, ela queria se casar com algum funcionário do governo. Ora, o que você esperava? Claro que o irmão não tinha como sustentá-la para sempre. E agora eu soube que ela voltou para a Inglaterra, coitadinha, e está trabalhando como uma espécie de dama de companhia, praticamente uma criada. E ganhando só quinze shillings por semana! Não acha horrível pensar numa coisa dessas?” “Horrível”, repetiu Elizabeth. E mais não disseram a respeito. De manhã, depois que voltou da casa de Flory, Elizabeth relatou sua aventura para os tios. Estavam sentados à mesa do café-damanhã, toda enfeitada de flores, com o punkah oscilando acima da cabeça deles e o mordomo maometano alto que parecia uma cegonha, com suas roupas brancas e seu pagri, de pé atrás da cadeira da sra. Lackersteen, com a bandeja na mão. “E ah, titia, uma coisa muito interessante! Uma jovem birmanesa apareceu na varanda. Nunca tinha visto uma mulher assim, pelo menos sabendo que era uma mulher. Uma pessoazinha muito estranha — parecia quase uma boneca, com o rostinho redondo amarelo e o cabelo preto preso numa rosca no alto da cabeça. Não parecia ter mais do que dezessete anos. O senhor Flory me disse que era a lavadeira da casa.” O corpo comprido do mordomo indiano se enrijeceu. Ele fitou a jovem com órbitas muito brancas em seu rosto negro. Ele falava bem inglês. O sr. Lackersteen deteve em pleno ar o garfo com seu bocado de peixe, a meio caminho entre o prato e a boca grosseiramente escancarada. “Lavadeira?”, disse ele. “Lavadeira! Sim, senhor, deve haver algum maldito erro nessa história! Não existem lavadeiras neste maldito país, sabia? Toda a roupa é lavada só pelos homens. Se quer mesmo saber o que eu acho...” E então parou bruscamente de falar, como se alguém tivesse pisado em seu pé debaixo da mesa.
*
8.
Naquela noite, Flory mandou Ko S’la em busca do barbeiro — era o único barbeiro da cidade, um indiano que ganhava a vida barbeando coolies indianos à razão de oito annas por mês para fazer-lhes a barba em dias alternados. Os europeus também eram clientes dele, por falta de opção. O barbeiro estava à sua espera na varanda quando Flory voltou do tênis. Flory esterilizou as tesouras com água fervente e permanganato de potássio, e deixou que o barbeiro cortasse seus cabelos. “Prepare o meu melhor terno de tecido leve”, disse a Ko S’la, “uma camisa de seda e os meus sapatos de couro de sambhur. E também a gravata nova que chegou de Rangoon na semana passada.” “Já fiz isso, thakin”, respondeu Ko S’la, o que significava que iria fazê-lo em seguida. Quando Flory entrou no quarto, encontrou Ko S’la à sua espera ao lado das roupas que já estendera, com um ar de leve contrariedade. Ficou imediatamente claro que Ko S’la sabia por que Flory decidira se arrumar com tanto apuro (a saber, na esperança de se encontrar com Elizabeth), e que aquilo não contava com a sua aprovação. “O que você está esperando?”, perguntou Flory. “Estou esperando para ajudar o senhor a se vestir, thakin.” “Hoje à noite eu me visto sozinho. Pode ir.” Ele planejava barbear-se — pela segunda vez naquele dia — e não queria que Ko S’la visse que estava levando seus artigos de barbear para o banheiro. Fazia muitos anos que não se barbeava duas vezes no mesmo dia. Que sorte providencial ter encomendado aquela gravata nova na semana anterior, pensou. Vestiu-se com todo o cuidado e passou quase quinze minutos penteando o cabelo, que era duro e nunca assentava bem no dia em que o cortava. Quase no momento seguinte, assim lhe pareceu, estava caminhando com Elizabeth pelo caminho que levava ao bazar. Ele a encontrara sozinha na “biblioteca” do Clube e, num súbito rompante de coragem, decidira convidá-la para sair; e ela aceitara com uma falta de hesitação que o surpreendera, nem se preocupando em dizer alguma coisa ao tio e à tia. Fazia tanto tempo que ele já vivia na Birmânia que se esquecera dos costumes ingleses. Já estava escuro à sombra das figueiras-dos-pagodes do caminho do bazar, e a folhagem escondia a lua crescente, mas as estrelas que apareciam nas raras aberturas da copa cintilavam brancas e contidas, como lâmpadas presas a linhas invisíveis. Aromas sucessivos chegavam a eles em ondas, primeiro a densa doçura dos jasmins, depois um cheiro frio e pútrido de excremento ou de deterioração vindo das cabanas fronteiriças ao bangalô do dr. Veraswami. Tambores pulsavam a certa distância. Quando ouviu os tambores, Flory lembrou que um pwe estava sendo apresentado um pouco mais adiante no caminho, em frente à casa de U Po Kyin; na verdade, era U Po Kyin que tinha encomendado o pwe, embora outra pessoa estivesse pagando
pelo espetáculo. Uma idéia ousada ocorreu a Flory. Iria levar Elizabeth ao pwe! Ela haveria de adorar, com toda a certeza; ninguém que tivesse olhos para ver resistiria a uma dança do pwe. Talvez houvesse um escândalo quando voltassem juntos para o Clube depois de uma longa ausência; mas tanto fazia! O que importava? Ela era diferente daquele rebanho de idiotas do Clube. E seria muito divertido irem juntos ao pwe! Naquele momento, a música explodiu num pandemônio assustador — um guincho estridente de flautas, um chacoalhar que lembrava castanholas e a batida rouca dos tambores, acima dos quais uma voz de homem gritava em tom metálico. “Que barulho é esse?”, perguntou Elizabeth, parando de andar. “Parece o som de uma jazz band!” “Música nativa. Está acontecendo um pwe, uma espécie de teatro birmanês; uma mistura de drama histórico com revista musical, se é que você consegue imaginar uma coisa dessa. Creio que vai achar interessante. É logo depois da curva do caminho, ali adiante.” “Ah”, disse ela, em tom de dúvida. Depois de fazerem a curva, depararam com luzes brilhantes. Por uns trinta metros, todo o caminho estava bloqueado pelos espectadores do pwe. Ao fundo havia um palco elevado, sob lampiões de querosene, à frente do qual berrava e pulsava a orquestra; no palco, dois homens envergando trajes que lembraram a Elizabeth pagodes chineses alternavam posturas com espadas curvas nas mãos. Toda a estrada era um mar de dorsos femininos cobertos de musselina branca, com echarpes cor-derosa sobre os ombros e cilindros de cabelos negros. Algumas mulheres estavam estendidas em esteiras, profundamente adormecidas. Um velho chinês com uma bandeja de amendoins abria caminho em meio à multidão, entoando em tom triste “Myaypè! Myaypè!”. “Podemos parar e assistir um pouco, se você quiser”, disse Flory. O fulgor das luzes e o barulho terrível da orquestra quase deixaram Elizabeth tonta, mas o que mais a espantou foi a visão daquela massa humana sentada no leito da estrada como se estivesse na platéia de um teatro. “Eles sempre se apresentam no meio da estrada?”, perguntou ela. “Geralmente. Montam um palco improvisado e depois desmontam pela manhã. O espetáculo dura a noite inteira.” “Mas é permitido bloquear assim a estrada?” “Ah, claro. Aqui não existem regras de trânsito. Nem trânsito para regular.” Aquilo pareceu a ela muito estranho. Mas a essa altura quase toda a platéia tinha se virado nas esteiras para olhar para a “Ingaleikma”. Havia no meio do público uma meia dúzia de cadeiras, nas quais se instalavam oficiais e funcionários. U Po Kyin estava entre eles e fez um grande esforço para virar seu corpo elefantino e cumprimentar os europeus. Quando a música parou, Ba Taik esgueirou-se às pressas em meio à multidão com seu rosto bexiguento e fez uma reverência profunda diante de Flory, com seu ar temeroso.
“Sagrada Excelência, o meu patrão U Po Kyin pergunta se o senhor e a jovem branca não querem vir assistir ao nosso pwe por alguns minutos. Tem duas cadeiras à sua disposição.” “Estão nos chamando para nos sentar”, disse Flory a Elizabeth. “Quer ir? É muito interessante. Daqui a pouco esses dois sujeitos vão sair de cena e começarão as danças. Será que você não se incomoda, só por alguns minutos?” Elizabeth ficou em dúvida. De algum modo, não lhe parecia correto nem seguro instalar-se no meio daquela multidão malcheirosa de nativos. No entanto, ela confiava em Flory, que devia saber o que era adequado, e permitiu que ele a conduzisse até as cadeiras. Os birmaneses abriam caminho com suas esteiras, os olhos fixos nela enquanto tagarelavam; suas canelas roçavam em corpos envoltos em musselina, e sentia-se um odor animalesco de suor. U Po Kyin inclinou-se na direção dela, fazendo o máximo que podia em matéria de reverência e dizendo com voz anasalada: “Queira ter a bondade de sentar, madame! É uma honra travar conhecimento com a senhora. Boa noite, senhor Flory! Que prazer inesperado. Se soubéssemos que pretendiam nos honrar com a sua visita, teríamos providenciado uísques e outras mercadorias européias. Ha, ha!” Ele riu, e seus dentes avermelhados pelo bétel cintilaram à luz dos lampiões como papel laminado vermelho. Era uma criatura tão vasta e horrenda que Elizabeth não conseguiu evitar encolher-se diante dele. Uma jovem esguia envergando um longyi violeta curvava-se diante dela e lhe apresentava uma bandeja com duas taças contendo um sorvete amarelado. U Po Kyin bateu palmas com força: “Hey kaung galay!”, exclamou para um rapaz a seu lado. Deu algumas instruções em birmanês e o rapaz saiu, abrindo caminho até a beira do palco. “Ele mandou que chamem logo a melhor dançarina para se apresentar em nossa homenagem”, disse Flory. “Pronto, ela já está no palco.” Uma jovem que até então estava agachada no fundo do palco, fumando, adiantouse até chegar a um ponto bem iluminado. Era muito nova, de ombros estreitos, sem seios, e vestia um longyi de cetim azul-claro que escondia seus pés. As saias de seu ingyi curvavam-se para o alto logo acima dos quadris em pequenas anquinhas, de acordo com a antiga moda birmanesa. Lembravam as pétalas de uma flor voltadas para baixo. Ela entregou languidamente seu charuto para um dos membros da orquestra e então, estendendo um braço esguio, sacudiu-se toda como que para relaxar os músculos do corpo. A orquestra explodiu num súbito vozerio. Havia flautas que lembravam gaitas-defoles, um estranho instrumento que consistia em placas de bambu que um homem percutia com um pequeno martelo, e no meio havia um homem cercado por doze tambores altos de vários tamanhos. Ele passava rapidamente de um para o outro, golpeando o couro com a base das mãos. Em instantes, a jovem começou a dançar.
Mas no início não era uma dança, era uma série de acenos de cabeça, de poses do corpo e de torções dos cotovelos que se sucediam de acordo com o ritmo, lembrando os movimentos de uma dessas figuras articuladas de madeira de um velho carrossel. A maneira como o pescoço e os cotovelos giravam era igual à de uma boneca articulada, mas ainda assim incrivelmente sinuosa. Suas mãos, torcendo-se como cabeças de serpente com os dedos muito unidos, viravam-se para trás até quase encostarem no antebraço. Aos poucos, seus movimentos foram-se acelerando. Ela começou a saltitar de um lado para o outro, dobrando-se numa espécie de reverência e tornando a decolar com uma agilidade extraordinária, apesar do longyi comprido que aprisionava seus pés. Em seguida, começou a dançar numa postura grotesca, como se estivesse sentada, com os joelhos dobrados e o corpo inclinado para a frente, com braços estendidos e sempre ondulantes, e a cabeça movendo-se também ao som dos tambores. A música acelerou e começou a se encaminhar para um clímax. A moça ergueu-se muito ereta e passou a rodopiar com a velocidade de um pião, as anquinhas do seu ingyi voando como as pétalas de um floco de neve. Em seguida, a música parou tão abruptamente como tinha começado, e a moça tornou a se encolher numa reverência, em meio a gritos entusiasmados da platéia. Elizabeth assistiu àquela dança com um misto de espanto, tédio e algo próximo ao horror. Tinha tomado um gole da sua bebida gelada e descobrira que o gosto era parecido com óleo para o cabelo. Numa esteira a seus pés, havia três meninas birmanesas estendidas num sono profundo, todas com a cabeça no mesmo travesseiro, os pequenos rostos ovais lado a lado lembrando três gatinhos. Encoberto pela música, Flory falava em voz baixa no ouvido de Elizabeth, comentando a dança. “Sabia que isto a interessaria; foi por isso que a trouxe até aqui. Você leu livros e esteve em lugares civilizados, não é como todos nós aqui, selvagens ignorantes. Não acha que é uma dança que vale a pena ver, mesmo sendo um tanto bizarra? Olhe só os movimentos da moça — a estranha postura inclinada para a frente, lembrando uma marionete, e a maneira como seus braços se retorcem a partir do cotovelo, como uma naja pronta a dar o bote. É grotesco, é até feio, com uma espécie de feiúra deliberada. E também tem alguma coisa de sinistro. Existe um toque demoníaco em todos os mongóis. E no entanto, quando você olha mais de perto, quanta arte, quantos séculos de cultura pode-se perceber por trás de tudo! Cada movimento que essa moça faz vem sendo estudado e transmitido por muitas e muitas gerações. Toda vez que você examina de perto a arte desses povos do Oriente, é isto que encontra — uma civilização com um passado muito extenso, praticamente inalterado, desde os tempos em que nos vestíamos de palha. De algum modo que eu não sei definir, toda a vida e todo o espírito da Birmânia estão resumidos na maneira como essa moça retorce os braços. Ao vê-la, você pode ver as plantações de arroz, as aldeias à sombra dos pés de teca, os pagodes, os sacerdotes com suas túnicas amarelas, os búfalos nadando nos rios de manhãzinha, o palácio de Thibau...” Sua voz parou bruscamente no momento em que a música cessou. Havia certas
coisas, e a dança do pwe era uma delas, que o estimulavam a discursar e a falar sem medida; mas agora ele percebia que vinha falando como um personagem de romance, e nem mesmo de um romance muito bom. Desviou os olhos. Elizabeth ouvira suas palavras com um frio desconforto. Sobre o que aquele homem estaria falando?, foi o que ela pensou. Além disso, ela ouvira mais de uma vez a palavra detestada: arte. Pela primeira vez, lembrou-se de que Flory era um perfeito desconhecido e que fora uma insensatez sair sozinha com ele. Olhou em volta, para o mar de rostos escuros e a luz lúgubre dos lampiões; a estranheza da cena quase a assustou. O que ela estava fazendo naquele lugar? Não devia ser correto instalar-se assim no meio de todos aqueles negros, quase encostada neles, sentindo o cheiro do alho e do suor deles. Por que ela não estava no Clube, junto com os outros brancos? Por que ele a trouxera até ali, no meio daquela horda de nativos, para assistir àquele espetáculo horrendo e selvagem? A música recomeçou e a moça do pwe retomou sua dança. Seu rosto estava coberto por uma camada tão grossa de pó-de-arroz que reluzia à luz do lampião como uma máscara de gesso tendo por trás olhos vivos e móveis. Com aquele rosto oval coberto de um branco de morte e aqueles gestos rígidos, ela ficava monstruosa, parecendo um demônio. A música mudou de andamento e a moça começou a cantar com uma voz metálica. Era uma canção com um veloz ritmo trocaico, alegre mas irada. A platéia respondeu, cem vozes cantando as sílabas ásperas em uníssono. Ainda naquela estranha postura inclinada, a jovem virou-se e começou a dançar com as nádegas apontadas na direção dos espectadores. Seu longyi de seda cintilava como metal. Com as mãos e os cotovelos ainda girando, ela balançava o traseiro de um lado para o outro. E então — uma façanha espantosa, bem visível através do longyi — ela começou a remexer cada uma das nádegas em movimentos independentes da outra, ao ritmo da música. Houve um clamor de aplauso vindo da platéia. As três meninas adormecidas na esteira acordaram ao mesmo tempo e começaram a aplaudir como loucas. Um funcionário exclamou em tom anasalado: “Bravo! Bravo!” em inglês, em consideração aos europeus presentes. Mas U Po Kyin franziu o sobrolho e fez um gesto brusco com a mão. Ele sabia como eram as mulheres européias. Elizabeth, entretanto, já se levantara. “Vou embora. Já devíamos ter voltado”, disse bruscamente. Mantinha os olhos desviados, mas Flory pôde ver que ela estava corada. Ele se levantou ao lado dela, contrariado. “Será que você não podia ficar só mais um pouco? Eu sei que está tarde, mas... eles fizeram a jovem entrar em cena duas horas antes do momento previsto, em nossa homenagem. Só uns minutinhos?” “Não posso fazer nada, eu já devia ter voltado há séculos. Não sei o quê a minha tia e o meu tio estarão pensando.” Ela começou a abrir caminho em meio à platéia e ele a seguiu, sem tempo sequer
de agradecer aos artistas do pwe por seu esforço. Os birmaneses abriram caminho com expressão de desagrado. Era mesmo típico daqueles ingleses atrapalhar tudo, mandavam chamar a melhor dançarina e depois iam embora antes que ela mal tivesse tido tempo de começar! Houve uma briga terrível depois que Flory e Elizabeth foram embora, a dançarina recusando-se a continuar e a platéia insistindo para que seguisse adiante. No entanto, a paz foi restaurada quando dois palhaços entraram correndo no palco e começaram a soltar fogos e a fazer gracejos obscenos. Flory seguia a moça com expressão humilhada no caminho de volta. Ela caminhava a passos rápidos, a cabeça virada, e por alguns momentos não disse nada. Que coisa acontecer aquilo, logo quando estavam começando a se dar tão bem! Ele tentava se desculpar. “Eu sinto muito! Não sabia que você iria se incomodar...” “Não é nada. Do que o senhor está se desculpando? Eu só disse que estava na hora de voltar, nada mais.” “Eu devia ter refletido melhor. Neste país, a gente tende a não reparar mais nesse tipo de coisa. O conceito de decência dessas pessoas não é igual ao nosso — de certa forma, é até mais rigoroso, mas...” “Não é isso! Não é isso!”, exclamou ela, muito irritada. Ele viu que só estava piorando as coisas. Continuaram a caminhar em silêncio, ela na frente e ele atrás. Flory estava muito infeliz. Que idiota tinha sido! E, no entanto, o tempo todo não fazia a menor idéia do verdadeiro motivo de ela estar tão irritada com ele. Não tinha sido o comportamento em si da dançarina que a ofendera; aquilo fora apenas a gota d’água. Mas toda aquela expedição — a mera idéia de querer se misturar com aqueles nativos malcheirosos — lhe causara uma péssima impressão. Ela tinha absoluta certeza de que não era assim que os brancos deviam se comportar. E aquele discurso absurdo que ele tinha começado a fazer, com todo aquele palavrório — quase, pensou ela, amarga, como se estivesse recitando uma poesia! Era como costumavam falar aqueles artistas intragáveis que ela às vezes encontrava em Paris. Ela tinha achado Flory mais másculo antes daquela noite. Mas então lembrou-se da aventura da manhã, quando ele enfrentara o búfalo de mãos nuas, e parte de sua raiva se evaporou. Quando chegaram ao portão do Clube, ela já estava praticamente pronta para perdoá-lo. A essa altura, Flory havia reunido a coragem necessária para tornar a falar. Parou de andar, e ela também, num trecho do caminho onde os galhos deixavam passar um pouco da luz das estrelas e ele conseguia distinguir vagamente o rosto dela. “Bem. Espero que você não tenha ficado com raiva por causa disso.” “Não, claro que não. Eu disse que não tinha ficado.” “Eu não devia tê-la levado até lá. Por favor, me perdoe. — Sabe, acho que não vou contar a ninguém onde estive com você. Talvez seja melhor você dizer que só saiu para caminhar um pouco, no jardim — alguma coisa desse tipo. Podem achar estranho uma moça branca num pwe. Acho que por mim não direi nada.”
“Ah, claro que ficarei calada!”, concordou ela, com uma animação que o deixou surpreso. Depois disso, ele percebeu que fora perdoado. Mas ainda não compreendia de que ofensa exatamente tinha sido desculpado. Entraram separados no Clube, por um acordo tácito. A expedição fora definitivamente um malogro. E naquela noite o salão do Clube ostentava um ar de gala. Toda a comunidade européia esperava ser apresentada a Elizabeth, e o mordomo do Clube com seus chokras, todos com seus melhores uniformes engomados, enfileiravam-se dos dois lados da porta, sorrindo e fazendo profundas reverências. Quando os europeus encerraram seus cumprimentos, o mordomo adiantou-se trazendo uma grande guirlanda de flores, que os empregados tinham preparado para a “missie-sahib”. O sr. Macgregor fez um divertidíssimo discurso de boas-vindas, apresentando a todos. Maxwell foi descrito como “o nosso especialista local em ciência arbórea”, Westfield como “o grande guardião da lei e da ordem e o, ahn... terror dos bandoleiros locais”, e assim por diante. E foi saudado com muitas risadas. A visão de uma bela jovem deixara todos tão bem-dispostos que aquilo os fazia até apreciar um dos discursos do sr. Macgregor — que, a bem da verdade, ele passara quase a tarde inteira preparando. No primeiro momento em que isso foi possível, Ellis, com um ar malicioso, pegou Flory e Westfield pelo braço e seguiu com os dois a reboque até o salão de jogos. Estava dominado por um humor muito mais alegre que o habitual. Beliscou o braço de Flory com seus dedos pequenos e duros, dolorosa mas amigavelmente. “Ora, meu rapaz, todo mundo estava procurando por você. Por onde você andou esse tempo todo?” “Ah, estava passeando.” “Passeando? E com quem?” “Com a senhorita Lackersteen.” “Eu sabia! Quer dizer que foi você o idiota que caiu na armadilha? Que engoliu a isca antes de qualquer outro ter sequer a chance de olhar para ela! Achei que você já era escolado demais para isso, juro que achei!” “O que você quer dizer?” “O que eu quero dizer? Olhe só para ele, fingindo que não sabe o que eu quero dizer! Ora, estou dizendo que foi você o escolhido pela titia Lackersteen para marido da sobrinha dela, é claro! Quer dizer, se você não tomar muito cuidado. Não concorda, Westfield?” “Exatamente, meu amigo. Homem solteiro em boa situação, ótimo partido. Pronto para os votos sagrados do matrimônio, e todas essas coisas. É nele que estão de olho.” “Não sei de onde vocês estão tirando essa idéia. Não faz nem vinte e quatro horas que a moça chegou.” “E já foi suficiente para você dar uma voltinha com ela no jardim, pelo menos.
Abra bem os olhos! Tom Lackersteen pode ser um bêbado idiota, mas não é bobo de querer uma sobrinha pendurada no pescoço dele pelo resto da vida. E é claro que ela sabe muito bem do que precisa. Então, tome cuidado, e não vá enfiando a cabeça no laço.” “Ora, você não tem o direito de falar assim sobre as pessoas. Afinal, ela é só uma jovem...” “Meu querido asno...” Ellis, em tom quase afetuoso, agora que tinha um novo assunto para uma intriga, pegou Flory pela lapela. “Meu jovem e querido asno, não comece a ficar cheio de ares. Você pode estar achando que a moça é uma fruta fácil: mas não é. Essas moças que vêm da Inglaterra são todas iguais. ‘Qualquer coisa que use calças, mas nada antes do casamento’ — é o lema delas, todas, sem exceção. Por que você acha que essa jovem veio parar aqui?” “Por quê? Não sei. Porque ela quis, talvez.” “Grande idiota! Ela veio aqui para agarrar logo um bom marido, claro. Como se ninguém soubesse! Quando nada dá certo para as moças, elas sempre resolvem vir passar um tempo na Índia, onde todos os homens vivem loucos para ver uma mulher branca. O mercado matrimonial indiano, é como chamam. Pois deviam chamar de mercado de carne. Navios e navios de carne chegando a cada ano, como se trouxessem carcaças congeladas de carneiro, para serem apalpadas por solteirões velhos e sem-vergonha como você. Bem guardadas no congelador para a viagem. Pernis suculentos, direto do gelo.” “Você diz coisas nojentas.” “A melhor carne do país, alimentada nos pastos mais verdinhos da Inglaterra”, insistiu Ellis com ar satisfeito. “Entrega imediata. Frescor garantido.” E entregou-se à pantomima de alguém que examinava uma peça de carne, farejando a mercadoria como um bode. Tudo indicava que Ellis pretendia cultivar aquele gracejo por muito tempo; geralmente era assim quando tentava fazer graça; e não havia nada que lhe desse tanto prazer quanto arrastar o nome de uma mulher na lama. Flory não esteve muito mais com Elizabeth naquela noite. Ficaram todos reunidos no salão, onde predominava a tagarelice ligeira sobre coisa alguma que sempre reina nessas ocasiões. Flory jamais conseguia participar por muito tempo desse tipo de conversa. Para Elizabeth, porém, a atmosfera civilizada do Clube, com rostos brancos a toda a volta e o cenário reconfortante das revistas ilustradas e dos quadros de “Bonzo”, era tranqüilizadora, depois de seu inquietante interlúdio no pwe. Quando os Lackersteen foram embora do Clube, às nove da noite, não foi Flory e sim o sr. Macgregor quem os acompanhou até em casa, caminhando ao lado de Elizabeth como algum sáurio amigo, em meio às sombras tênues e tortas dos troncos dourados dos flamboyants. O episódio ocorrido em Prome, e muitas outras histórias, encontrava uma nova ouvinte. Qualquer recém-chegado a Kyauktada era candidato a uma boa quantidade dos relatos do sr. Macgregor, pois os outros o consideravam um
chato sem igual, e interromper suas narrativas já se transformara numa das tradições da vida do Clube. Mas Elizabeth, por natureza, era uma boa ouvinte. O sr. Macgregor achou que poucas vezes conhecera uma jovem tão inteligente. Flory ainda ficou mais algum tempo no Clube, bebendo com os demais. Muita coisa foi dita sobre Elizabeth. Por enquanto, a discussão em torno da admissão do dr. Veraswami fora deixada de lado. E o texto postado na véspera por Ellis também tinha sido removido do quadro de avisos. O sr. Macgregor vira a mensagem durante sua visita matinal ao Clube, e a seu modo comedido mas correto insistira que ela fosse removida. De maneira que o bilhete tinha sido retirado; não, contudo, antes de atingir seu objetivo.
*
9.
Durante os quinze dias seguintes, muita coisa aconteceu. A disputa entre U Po Kyin e o dr. Veraswami adquiriu ímpeto. A cidade inteira se dividiu em duas facções, e cada habitante nativo, de magistrados a varredores do bazar, tomou o partido de um ou de outro, todos inclusive dispostos ao perjúrio no momento oportuno. Dos dois partidos, todavia, o do médico era muito menor e bem menos eficaz em matéria de calúnia. O editor do Patriota Birmanês foi condenado por sedição e injúria, sem direito a fiança. Sua prisão provocou uma pequena rebelião em Rangoon, reprimida pela polícia com a morte de apenas dois manifestantes. Na prisão, o editor entrou em greve de fome, da qual desistiu ao cabo de seis horas. Também em Kyauktada as coisas não pararam de acontecer. Um dacoit chamado Nga Shwe O escapou da prisão em circunstâncias misteriosas. E surgiram inúmeros rumores sobre planos de um levante nativo no distrito. Os boatos — que ainda eram muito vagos — centravam-se numa aldeia chamada Thongwa, não muito distante do local onde Maxwell vinha supervisionando a derrubada de pés de teca. Diziam que um weiksa, ou mago, tinha aparecido de lugar nenhum e começara a profetizar o fim do poder inglês, distribuindo casacos mágicos à prova de balas. O sr. Macgregor não levou os boatos muito a sério, mas pediu um reforço de policiais militares. Responderam-lhe que uma companhia de infantaria indiana comandada por um oficial britânico seria mandada em seguida para Kyauktada. Westfield, claro, correra para Thongwa logo à primeira ameaça, ou esperança, de tumulto. “Meu Deus, se pelo menos eles se rebelassem de verdade, uma vez que fosse!”, disse Westfield a Ellis antes de partir. “Mas vai ser só mais um rebate falso, como das outras vezes. É sempre a mesma história, com essas revoltas daqui — acabam praticamente antes de começar. Acredite, eu nunca disparei a minha arma contra ninguém, nem mesmo contra um bandido. Onze anos, sem contar a Guerra, e nunca matei ninguém. É muito deprimente.” “Paciência”, respondeu Ellis, “se eles não se apresentam para a luta, você sempre pode mandar prender os líderes do movimento e dar-lhes uma bela surra de bambu sem ninguém saber de nada. Melhor do que ficar hospedando essa gente nas nossas prisões, que mais parecem um asilo de velhos.” “Hum, pode ser. Mas hoje não posso mais fazer isso. Essas leis todas de luva de pelica — se fomos idiotas de criar essas leis, agora somos obrigados a respeitá-las.” “Ora, as leis que se danem. Uma boa sova de bambu é a única coisa capaz de impressionar um birmanês. Já viu como eles ficam, depois de levar uma surra? Eu já. Aparece gente em carros de boi para buscar os homens na prisão, e eles saem berrando, com as mulheres espalhando banana amassada em suas costas. Isso eles entendem. Se fosse eu a decidir, mandava dar-lhes as pancadas nas solas dos pés, como os turcos.”
“Fazer o quê? Vamos esperar que desta vez pelo menos eles tenham a coragem de aparecer e lutar. Aí nós poderemos usar a Polícia Militar, com fuzis e tudo. Chumbo grosso em uns vinte — e a atmosfera fica mais limpa.” No entanto, a oportunidade tão esperada não chegou. Westfield e os doze policiais que tinha levado consigo para Thongwa — alegres rapazes gurkhas de rosto redondo, loucos para poderem usar seus kukris em alguém — encontraram o distrito desanimadoramente pacífico. Não parecia haver nem sombra de rebelião em lugar algum; só a tentativa anual dos aldeões, tão regular quanto as monções, de evitar pagar a taxa per capita. O tempo estava ficando cada vez mais quente. Elizabeth tivera seu primeiro ataque de brotoejas em virtude do calor. Os jogos de tênis no Clube tinham praticamente parado; os oponentes só conseguiam disputar um set lânguido antes de desabarem nas cadeiras e tomarem litros e litros de limonada tépida — tépida porque o gelo só chegava duas vezes por semana de Mandalay e derretia vinte e quatro horas depois. As “chamas da floresta” estavam floridas e em pleno esplendor. As mulheres birmanesas, a fim de proteger suas crianças do sol, cobriam o rosto delas com um cosmético amarelo até deixá-las parecidas com pequenos feiticeiros africanos. Bandos de pombos verdes e pombos imperiais do tamanho de patos vinham comer os frutos das grandes figueiras-dos-pagodes ao longo do caminho do bazar. Enquanto isso, Flory tinha expulsado Ma Hla May de sua casa. Uma situação desagradável e complicada! Houve um pretexto suficiente — ela roubara sua cigarreira de ouro e a empenhara na loja do chinês Li Yeik, o merceeiro e penhorista ilícito do bazar —, mas ainda assim era apenas um pretexto. Flory sabia perfeitamente bem, assim como Ma Hla May e todos os criados, que ele só estava se livrando dela por causa de Elizabeth. Por causa da “Ingaleikma do cabelo pintado”, como dizia Ma Hla May. Num primeiro momento, Ma Hla May não fez nenhuma cena violenta. Permaneceu calada, escutando, enquanto ele lhe preenchia um cheque de cem rupias — Li Yeik ou o chetty indiano do bazar podiam descontar cheques — e lhe dizia que ela estava dispensada. Sentia-se mais envergonhado do que ela; não conseguia olhála nos olhos, e falava com uma voz inexpressiva e carregada de culpa. Quando o carro de bois chegou para carregar os pertences da jovem, ele se fechou no quarto, escondendo-se até o desfecho da situação. Rodas gemeram na entrada da casa, ouviram-se gritos; em seguida, um terrível clamor de berros descontrolados. Flory saiu. Todos brigavam ao sol em torno do portão. Ma Hla May agarrava-se ao pilar da entrada e Ko S’la tentava arrastá-la para fora. Ela virou para Flory o rosto desfigurado pela fúria e pelo desespero e repetia, aos gritos: “Thakin! Thakin! Thakin! Thakin! Thakin!”. Ele ficou com o coração partido de ouvir que ela ainda o chamava de thakin, mesmo depois que ele a mandara embora.
“O que foi?”, perguntou ele. Parece que havia um aplique de cabelos falsos que tanto Ma Hla May quanto Ma Yi alegavam ser de sua propriedade. Flory entregou o aplique a Ma Yi e deu duas rupias a Ma Hla May como compensação. Em seguida o carro partiu, com Ma Hla May sentada entre suas duas cestas de vime, com as costas retas e expressão de dor, e com um gatinho no colo. Fazia apenas dois meses que ele lhe dera o gatinho de presente. Ko S’la, que havia muito desejava a partida de Ma Hla May, não ficou inteiramente satisfeito agora que ela por fim se fora. E ficou menos satisfeito ainda quando viu o patrão tomar o caminho da igreja — ou, como dizia ele, do “pagode inglês” —, porque Flory ainda se encontrava em Kyauktada no domingo em que o capelão chegou à cidade, e acabou indo à igreja com todos os outros. A congregação era de doze pessoas, o que incluía o sr. Francis, o sr. Samuel e seis nativos cristãos, com a sra. Lackersteen tocando o hino “Abide with me” no pequeno harmônio de um só pedal. Era a primeira vez em dez anos que Flory ia à igreja, sem contar os funerais. A idéia que Ko S’la fazia do que podia ocorrer no “pagode inglês” era extremamente vaga; mas ele sabia que comparecer à igreja era sinal de respeitabilidade — uma qualidade que, como todos os criados de homens solteiros, ele detestava com fervor. “Vamos ter problemas”, disse ele com um tom desanimado aos outros criados. “Tenho observado o que ele” (referia-se a Flory) “anda fazendo nesses últimos dez dias. Diminuiu o número de cigarros para quinze por dia, parou de tomar gim antes do café-da-manhã, começou a se barbear todo fim de tarde — apesar de achar que eu não sei disso, o idiota. E encomendou meia dúzia de camisas de seda novas! Eu precisei ficar de pé junto ao dirzi, chamando-o de bahinchut, para conseguir que ele acabasse o serviço a tempo. Maus presságios! Dou a ele mais três meses, e então adeus à paz nesta casa!” “Por quê? Ele vai se casar?”, perguntou Ba Pe. “Tenho certeza. Quando um homem branco começa a freqüentar o pagode inglês, pode-se dizer que é o começo do fim.” “Já tive muitos patrões na vida”, disse o velho Sammy. “O pior foi o sahib coronel Wimpole, que mandava o ordenança me segurar debruçado na mesa e então vinha correndo por trás e me dava um pontapé com botas muito pesadas porque eu lhe servia bananas fritas vezes demais. Em outras ocasiões, quando ele ficava embriagado, disparava o revólver para o teto da casa dos criados, logo acima da nossa cabeça. Mas eu preferia servir dez anos ao sahib coronel Wimpole a ficar uma semana sob as ordens de alguma memsahib, com todo esse kit-kit. Se o nosso patrão se casar, vou embora no mesmo dia.” “Eu não, porque já faz quinze anos que sou empregado dele. Mas sei bem o que vai acontecer conosco quando essa mulher vier para cá. Vai começar a gritar por
causa das manchas de poeira em cima dos móveis, vai nos acordar para lhe trazermos xícaras de chá no meio da tarde, quando estivermos dormindo, e vai começar a remexer na cozinha a qualquer hora, queixando-se das panelas sujas e das baratas no pote de farinha. Estou convencido de que essas mulheres passam as noites em claro só imaginando novas maneiras de atormentar os criados.” “Todas elas têm um livrinho vermelho”, disse Sammy, “em que anotam todo o dinheiro que dão para as compras no bazar, duas annas para isso, quatro para aquilo, e ninguém consegue separar mais nada. Elas criam mais kit-kit por causa do preço da cebola do que um sahib por causa de cinco rupias.” “Ah, eu não sei! Ela vai ser pior ainda do que Ma Hla May. Ah, as mulheres!”, acrescentou, com uma espécie de suspiro. Suspiro que os demais ecoaram, até Ma Pu e Ma Yi. Nenhuma delas se sentiu atingida pelas palavras de Ko S’la, pois as mulheres inglesas eram consideradas uma raça à parte, possivelmente nem mesmo humana — tão temida que o casamento de um inglês era geralmente o sinal para que todos os criados da casa desaparecessem, mesmo os que já estavam com ele havia muitos anos.
*
10. Na verdade, porém, o alarme de Ko S’la era prematuro. Depois de conhecer Elizabeth por dez dias, Flory mal ficara mais íntimo dela do que no dia em que se encontraram pela primeira vez. Na verdade, ele teve exclusividade quase total da companhia dela nesses dez dias, em que a maioria dos europeus se encontrava na floresta. O próprio Flory não tinha muito direito de ficar vadiando na sede da empresa, pois nesse período do ano a extração de madeira andava a todo o vapor, e na sua ausência tudo entrava em colapso sob o comando do seu incompetente supervisor eurasiano. Mas ele tinha permanecido na cidade — pretextando uma febre ligeira —, enquanto cartas desesperadas lhe chegavam todo dia do supervisor, relatando calamidades. Um dos elefantes adoecera, o motor da estradinha de ferro que era usada para transportar os troncos de teca até o rio parara de funcionar, quinze coolies tinham desertado. Mas ainda assim Flory continuou em casa, incapaz de se afastar de Kyauktada enquanto Elizabeth lá estivesse, e procurando continuamente — ainda que sem muito sucesso — resgatar a amizade fácil e encantadora do primeiro encontro dos dois. Viam-se todos os dias de manhã e à noite, é verdade. Todo fim de tarde, disputavam uma partida simples de tênis no Clube — a sra. Lackersteen era inábil demais e o sr. Lackersteen rabugento demais para jogar tênis nessa época do ano —, e depois se sentavam no salão, os quatro, jogando bridge e conversando. Mas embora Flory passasse horas na companhia de Elizabeth e os dois se vissem a sós com freqüência, nunca se sentia à vontade com ela. Conversavam — enquanto a conversa tratasse de trivialidades — com a maior liberdade, mas ainda assim permaneciam distantes, como desconhecidos. Ele se sentia embaraçado na presença dela, jamais conseguia esquecer sua marca de nascença; a pele de seu queixo escanhoado duas vezes ao dia estava irritada, seu corpo o torturava pedindo uísque e tabaco — pois ele tentava reduzir o consumo de álcool e cigarros quando estava com ela. Ao final de dez dias, eles não pareciam nem um pouco mais próximos da relação que ele desejava. De algum modo, jamais conseguira falar com ela da maneira que queria. Falar, simplesmente falar! Parece tão pouco, mas na verdade significa muito! Quando você viveu quase até a meia-idade na mais amarga solidão, em meio a pessoas que consideram uma blasfêmia a sua opinião verdadeira sobre qualquer tema, a necessidade de falar é a maior de todas. No entanto, falar a sério com Elizabeth parecia impossível. Era como se os dois estivessem sob o efeito de algum feitiço que empurrava todas as suas conversas para a banalidade: discos de gramofone, cães, raquetes de tênis — toda essa desoladora parolagem vazia de mesa de clube. Ele tinha a impressão de que ela não queria falar de nada além disso. Bastava ele abordar um assunto de algum interesse, para ouvir o tom evasivo, o “desse jeito eu não brinco”, que na mesma hora despontava na voz dela. O gosto da jovem em
matéria de livros deixou-o pasmo, quando ele descobriu qual era. E no entanto ela era jovem, refletia ele, e afinal ela não tinha tomado vinho branco e conversado sobre Proust à sombra dos plátanos de Paris? Mais adiante, sem dúvida, ela ainda haveria de compreendê-lo e fazer-lhe a companhia de que ele precisava. Talvez fosse porque ele ainda não conquistara a confiança da jovem. Ele não tinha muito tato com ela. Como todos os homens que viveram muito tempo sozinhos, ele se ajustava bem melhor às idéias do que às pessoas. E assim, embora todas as suas conversas fossem superficiais, ele por vezes a irritava; não propriamente com o que dizia, e sim com o que dava a entender. Havia um desconforto entre os dois, um desconforto mal definido mas que ainda assim muitas vezes os deixava à beira do desentendimento. Quando duas pessoas, uma das quais vive há muito num país enquanto a outra é recém-chegada, se vêem juntas, é inevitável que a primeira se comporte como cicerone da segunda. Elizabeth, naqueles dias, estava conhecendo a Birmânia pela primeira vez, e era Flory, naturalmente, quem atuava como seu guia e intérprete, explicando isso, comentando aquilo. E as coisas que ele dizia, ou a maneira como dizia, sempre despertavam nela uma vaga mas profunda discordância. Pois ela percebia que Flory, quando falava dos “nativos”, falava quase sempre a seu favor. Estava sempre elogiando os costumes birmaneses e o caráter birmanês; chegava ao ponto de compará-los favoravelmente com os ingleses. E aquilo a incomodava. Afinal, os nativos eram os nativos — interessantes, sem dúvida, mas no fim das contas um povo “subalterno”, um povo inferior com sua cara preta. A atitude dele era um pouco tolerante demais. E ele tampouco compreendera ainda de que maneira aquelas suas palavras a contrariavam. Queria tanto que ela gostasse da Birmânia como ele, em vez de ver aquele país com os olhos opacos e desatentos de uma memsahib! Mas ele esquecera que a maioria das pessoas só consegue se sentir à vontade num país estrangeiro quando despreza seus habitantes. Ele demonstrava um excesso de ansiedade em suas tentativas de despertar nela o interesse pelas coisas do Oriente. Tentou convencê-la, por exemplo, a aprender birmanês, o que não deu em nada. (A tia da jovem lhe explicara que só as missionárias falavam birmanês; as mulheres de mais qualidade achavam o urdu de cozinha mais do que suficiente para suas necessidades.) E os pequenos desentendimentos da mesma ordem eram inumeráveis. Ela começara a perceber, sem muita clareza, que as opiniões dele não eram exatamente as que mais convinham a um cidadão inglês. Percebia também, com mais clareza, que ele estava esperando que ela gostasse dos birmaneses, e até os admirasse; admirar gente de cara preta, praticamente uns selvagens, cuja aparência bastava para fazê-la estremecer! E esse tema brotava de centenas de maneiras. Um bando de birmaneses passava por eles na estrada. Ela, com seus olhos ainda frescos, fitava o grupo entre curiosa e repelida e dizia a Flory, como teria dito a qualquer outro:
“Como essas pessoas são feias! É uma coisa repulsiva, não acha?” “É mesmo? Sempre acho que os birmaneses têm um ar encantador. Seus corpos são esplêndidos! Olhe só os ombros daquele sujeito — parece uma estátua de bronze. Imagine só as coisas que você veria na Inglaterra, se as pessoas andassem seminuas como aqui!” “Mas a cabeça deles tem um formato horroroso! O crânio parece se prolongar no sentido horizontal, como o de um gato. E a maneira como a testa é inclinada para trás — é uma coisa que lhes dá um ar de gente malvada. Lembro de ter lido alguma coisa numa revista sobre o formato da cabeça das pessoas; dizia que as pessoas com a testa inclinada assim eram do tipo criminoso.” “Ora, imagine, isso já é um pouco de exagero! Quase metade dos habitantes do mundo tem esse tipo de testa.” “Bem, se o senhor incluir as pessoas de cor, claro...!” Ou talvez passassem por uma fileira de mulheres voltando do poço: camponesas de corpo atarracado, pele acobreada, eretas debaixo de seus potes de água, com nádegas arrebitadas, nádegas fortes de égua. As mulheres birmanesas causavam mais repulsa a Elizabeth do que os homens; ela reconhecia sua semelhança com elas e o quanto era odioso ser parecida com criaturas de cara preta. “Elas não são simplesmente horrendas? Têm um ar tão grosseiro; parecem uma espécie de animal. O senhor acredita que alguém ache essas mulheres atraentes?” “Os homens daqui acham, a meu ver.” “Devem achar. Mas a pele escura... Não sei como alguém consegue lidar com isso!” “Mas, sabe, com o tempo a gente se acostuma com a pele escura. De fato, dizem — e acredito que seja verdade — que ao final de alguns anos nesses países a pele escura acaba nos parecendo mais natural que a branca. E, no fim das contas, é mesmo mais natural. Considerando o mundo como um todo, ser branco é que é uma excentricidade.” “O senhor realmente tem idéias estranhas!” E assim por diante, e mais e mais. O tempo todo ela sentia o quanto eram insatisfatórias, incorretas, as coisas que ele lhe dizia. O que a afetou especialmente à noite, quando Flory permitiu que o sr. Francis e o sr. Samuel, os dois eurasianos desgarrados, o atraíssem para uma conversa junto ao portão do Clube. Elizabeth, na verdade, chegara ao Clube poucos minutos antes de Flory, e quando ouviu a voz dele junto ao portão contornou a tela que cercava a quadra de tênis para ir encontrá-lo. Os dois eurasianos ladeavam Flory e o tinham encurralado, como uma dupla de cães de caça cercando a presa. Francis é que falava quase o tempo todo. Era um homem magro e excitável, e escuro como uma folha seca de tabaco; ele era filho de uma indiana do sul. Samuel, cuja mãe era uma karen, tinha a pele amarelo-clara e cabelos vermelhos sem brilho. Ambos vestiam uniformes surrados, com vastos topis
debaixo dos quais seus corpos esguios pareciam talos de cogumelo. Elizabeth aproximou-se deles a tempo de ouvir fragmentos de uma extensa e complicada autobiografia. Falar com os brancos — e de preferência falar sobre si mesmo — era a grande alegria da vida de Francis. Quando, de meses em meses, ele encontrava um europeu disposto a ouvi-lo, a história de sua vida jorrava de seus lábios em torrentes incontroláveis. Ele falava com uma voz anasalada e quase cantada, com uma rapidez incrível: “Do meu pai, senhor Flory, eu lembro pouco, mas era homem muito colérico, e de muitas surras com vara comprida de bambu, tanto em mim quando no meio-irmão menor e nas duas mães. E também que na ocasião da visita do bispo o pequeno meio-irmão e eu tivemos de vestir longyis, e mandaram que a gente se misturasse com as outras crianças birmanesas, para não sermos reconhecidos. Meu pai nunca chegou a bispo. Só conseguiu converter quatro pessoas em vinte e oito anos, e também gostava demais da bebida chinesa de arroz muito forte, o que estragou as vendas do livreto dele, pai intitulado O flagelo do álcool, publicado pela igreja batista de Rangoon, uma rupia e oito annas. O meio-irmão menor morreu num verão, sempre tossindo e tossindo” etc. etc. Os dois eurasianos perceberam a presença de Elizabeth. Tiraram seus topis, com muitas reverências e cintilante exibição de dentes. Provavelmente fazia vários anos que nenhum dos dois tinha a oportunidade de conversar com uma mulher inglesa. Francis retomou a palavra, mais efusivo do que nunca. Tagarelava com um medo evidente de ser interrompido e ter aquela conversa encerrada. “Boa noite para a senhora, boa noite, boa noite! É uma imensa honra conhecê-la! Muito quente tem estado o tempo estes dias, não acha? Mas até razoável para o mês de abril. Não tem sofrido demasiado com as brotoejas, espero? Pó de tamarindo aplicado ao ponto afetado é remédio infalível. Eu próprio sofro muitos tormentos toda noite. É uma doença muito comum entre nós, os európeos.” Ele pronunciava “európeos”, como o sr. Chollop do livro Martin Chuzzlewit. Elizabeth não respondeu. Olhava para os eurasianos com certa frieza. Só tinha uma idéia muito remota de quem ou o quê eles eram, e parecia-lhe uma impertinência que se atrevessem a dirigir-lhe a palavra. “Obrigado, vou me lembrar da recomendação do tamarindo”, disse Flory. “Receita de um famoso médico chinês. E também, meu senhor e minha senhora, se posso lhes aconselhar, usar apenas um chapéu terai não é recomendável em abril. Para os nativos, certo, eles têm o crânio duro. Mas para nós o sol é sempre uma ameaça. O sol pode ser muito mortífero para um crânio európeo. Mas estou interrompendo alguma coisa, minha senhora?” Isso foi dito em tom de decepção. Elizabeth, de fato, tinha decidido tratar os eurasianos de cima para baixo. Não sabia que Flory é que permitira que o mantivessem naquela conversa. Quando ela se virou a fim de voltar para a quadra de tênis, ensaiou uma raquetada no ar, para lembrar a Flory que já estavam atrasados
para o jogo. Ele viu o gesto e saiu andando atrás dela, com certa relutância, pois não gostava de tratar mal o pobre Francis, por mais maçante que ele fosse. “Está na minha hora”, disse ele. “Boa noite, Francis. Boa noite, Samuel.” “Boa noite, senhor Flory! Boa noite, senhorita! Boa noite, boa noite!” Recuavam com grandes floreios dos chapéus. “Quem são esses dois?”, perguntou Elizabeth quando Flory se aproximou dela. “Que criaturas extraordinárias! Estavam na igreja no domingo passado. Um deles parece quase branco. Tem certeza de que não são ingleses?” “Não, são eurasianos — filhos de pais brancos e mães nativas. Mestiços.” “Mas o que eles estão fazendo aqui? Onde é que vivem? Trabalham em alguma coisa?” “Eles ganham a vida no bazar, de algum modo. Acho que Francis serve de escrevente para um agiota indiano e Samuel atua como representante para as pessoas que querem fazer algum apelo. Mas é provável que de tempos em tempos eles passassem fome, não fosse a caridade dos nativos.” “Os nativos! Está querendo me dizer que eles... de alguma forma dependem dos nativos?” “Imagino que sim. É uma coisa muito fácil de ocorrer, quando é o caso. Os birmaneses não deixam ninguém passar fome.” Elizabeth nunca ouvira falar de nada parecido. A idéia de homens que eram em parte brancos vivendo na miséria em meio aos “nativos” a deixou tão chocada que ela parou no meio do caminho, e o jogo de tênis se viu adiado por alguns minutos. “Mas que coisa terrível! Melhor dizendo, é um péssimo exemplo! Quase como se um de nós vivesse dessa maneira. Será que não se pode fazer alguma coisa por esses dois? Organizar uma coleta e dar um jeito de mandá-los para longe daqui, por exemplo, ou coisa parecida?” “Infelizmente, não iria adiantar muito. Aonde quer que eles fossem, iriam acabar na mesma situação.” “Mas eles não podiam conseguir um trabalho decente?” “Duvido muito. Entenda, os eurasianos desse tipo — homens criados no bazar, sem estudo — estão perdidos desde o início. Os europeus não querem se aproximar deles de maneira alguma, e eles são impedidos de conseguir um emprego público, ainda que dos mais elementares. A única coisa que lhes resta é mendigar e conseguir algum bico, a menos que abandonem por completo qualquer pretensão a serem considerados europeus. E não se pode esperar isso desses pobres-diabos. As gotas de sangue branco que eles têm nas veias são o único recurso com que contam a seu favor. Pobre Francis, eu nunca me encontro com ele sem que ele logo comece a me falar do quanto sofre com o calor. Porque todo mundo acha que os nativos, claro, nunca sofrem de brotoejas — bobagem, claro, mas é o que as pessoas acreditam. E é a mesma coisa com a insolação. Eles usam esses topis imensos para nos lembrar que
têm crânio do tipo europeu. Uma espécie de insígnia. A marca da bastardia, por assim dizer.” Mas isso não satisfez Elizabeth. Ela percebeu que Flory, como sempre, nutria uma mal disfarçada simpatia pelos eurasianos. E a aparência daqueles dois homens despertara nela uma repulsa peculiar. E agora ela identificava a que tipo eles pertenciam. Pareciam-se com estrangeiros morenos, mexicanos e italianos, ou outro tipo moreno que sempre representa o mauvais rôle, o papel do vilão, em tantos filmes. “Eles tinham um ar degenerado, não tinham? Tão magros e sem carnes, e curvados; e não tinham expressões nada honestas. Será que esses eurasianos são mesmo muito degenerados? Ouvi dizer que as castas mestiças sempre herdam o que há de pior nas duas raças de origem. Será verdade?” “Não sei se é verdade. A maioria dos eurasianos não são espécimes muito saudáveis, e é difícil imaginar que pudessem ser, a julgar pela maneira como são criados. Mas a nossa atitude em relação a eles é terrível. Sempre falamos deles como se tivessem brotado do chão, como cogumelos, com todos os defeitos já prontos. Mas no fim das contas, somos nós os responsáveis pela existência deles.” “Responsáveis pela existência deles?” “Ora, todos eles têm pai.” “Ah... Claro, isso é verdade... Mas, afinal, não é você o responsável. Quer dizer, só um homem muito baixo poderia ter, ahn... alguma coisa com uma mulher nativa, não é?” “Ah, sem dúvida. Mas os pais desses dois eram ambos sacerdotes, religiosos ordenados, creio eu.” Lembrou-se de Rosa McFee, a jovem eurasiana que ele seduzira em Mandalay nos idos de 1913. A maneira como costumava entrar na casa dela às escondidas de gharry, com as persianas fechadas; os cachos dos cabelos de Rosa, parecidos com saca-rolhas; sua velha e cansada mãe birmanesa, que lhe servia chá na sala decorada com os vasos de samambaia e o divã de vime. E depois, quando se desembaraçou de Rosa, aquelas cartas medonhas, suplicantes, em papel perfumado, que, no final, ele foi deixando de abrir. Elizabeth voltou a falar de Francis e Samuel depois do jogo de tênis. “Esses dois eurasianos — alguém daqui tem algum contato com eles? Alguém os convida para sua casa, ou coisa assim?” “Imagine, claro que não. São completamente marginalizados. Na verdade, nem é considerado de muito bom-tom falar com eles. A maioria de nós só lhes dá bom-dia. Ellis, por exemplo, nem isso.” “Mas o senhor estava conversando com eles.” “Bem, eu de vez em quando desobedeço às regras. Estou querendo dizer que um pukka sahib jamais ia querer ser visto conversando com eles. Mas acontece que eu tento — só às vezes, quando tenho coragem — não ser um pukka sahib.”
Foi um comentário insensato. A essa altura, ela sabia muito bem o que significava a expressão “pukka sahib”, e tudo que representava. O que ele dissera tinha deixado um pouco mais clara a diferença de ponto de vista entre os dois. O olhar que ela lhe lançou foi quase hostil, e curiosamente implacável; porque o rosto dela às vezes se endurecia, a despeito de sua juventude e de sua pele que lembrava uma pétala de flor. Aqueles óculos modernos com armação de tartaruga lhe davam um ar muito seguro de si. Os óculos são coisas estranhamente expressivas — quase mais expressivas, na verdade, que os próprios olhos. Até esse ponto, ele nem a entendera muito bem nem conseguira propriamente conquistar a confiança da jovem. Na superfície, porém, as coisas não corriam nada mal entre os dois. Ele a irritava às vezes, mas a boa impressão que transmitira naquela primeira manhã ainda não se apagara. Era curioso que a essa altura ela mal tivesse reparado em sua marca de nascença. E havia assuntos sobre os quais ela tinha o maior prazer em ouvi-lo falar. A caça, por exemplo. Ela parecia ter um entusiasmo pela caça fora do comum para uma jovem mulher. E por cavalos também; mas de cavalos ele entendia menos. Combinara levá-la para caçar um dia, mais adiante, quando tivesse tempo de fazer os devidos preparativos. Os dois aguardavam a expedição com certa ansiedade, embora não exatamente pelos mesmos motivos.
*
11. Flory e Elizabeth caminhavam pela estrada do bazar. Era cedo, mas o ar já estava tão quente que, enquanto caminhavam, tinham a impressão de atravessar as águas tórridas de um mar muito aquecido. Fileiras de birmaneses passavam por eles, vindos do bazar, arrastando as sandálias, além de bandos de moças que caminhavam em grupinhos de quatro ou cinco, tagarelando, com os cabelos brilhantes reluzindo ao sol. Ao lado da estrada, pouco antes de se chegar à cadeia, os fragmentos de um pagode de pedra se espalhavam, rachados e encobertos pelas poderosas raízes de uma figueira-dos-pagodes. Os rostos raivosos dos demônios entalhados na pedra contemplavam os passantes ali da relva onde tinham caído. Ao lado, outra figueira enroscara-se em torno de uma palmeira, a qual ela arrancara do solo e forçara a se curvar para trás num corpo-a-corpo que durara pelo menos uma década. Seguiram caminhando e chegaram até a cadeia, um vasto bloco quadrado de quase duzentos metros de largura, com paredes lisas de concreto de seis metros de altura. Um pavão, o mascote da cadeia, caminhava com passos miúdos de pombo pelo parapeito. Seis prisioneiros apareceram, de cabeça baixa, arrastando duas carretas pesadas cheias de terra, sob a guarda de carcereiros indianos. Eram presidiários condenados a penas longas, com braços e pernas grossos, envergando uniforme de algodão branco áspero e um pequeno gorro equilibrado no crânio raspado. Tinham o rosto acinzentado, tímido e curiosamente achatado. As correntes que prendiam suas pernas produziam um tilintar claro. Uma mulher passou por eles equilibrando um cesto de peixes na cabeça. Dois corvos descreviam círculos no ar e mergulhavam para tentar pegar os peixes, e a mulher sacudia uma das mãos com ar distraído para mantê-los à distância. Ouvia-se um burburinho de vozes perto dali. “O bazar fica logo depois da esquina”, disse Flory. “Acho que hoje é dia de feira. É bem interessante de se ver.” Ele a convidara para ir ao bazar, dizendo-lhe que ela ia achar divertido conhecêlo. Dobraram a esquina. O bazar era uma área cercada que lembrava um imenso curral, com barracas baixas, na maioria cobertas de folha de palmeira, em toda a volta. Pelo espaço central, fervilhava o movimento de uma verdadeira multidão que falava alto e se acotovelava; a confusão de suas roupas multicoloridas lembrava uma cascata de pedaços de fruta cristalizada vertidos de um pote. Além do bazar, via-se o rio imenso e lodoso. Galhos de árvore e longas manchas de espuma suja desciam a correnteza a dez quilômetros por hora. Na margem, uma frota de sampanas, com a proa em forma de bico sempre trazendo olhos pintados, balançava amarrada a seus postes. Flory e Elizabeth ficaram observando por algum tempo. Fileiras de mulheres passavam equilibrando cestas de legumes e verduras na cabeça, e crianças arregalavam os olhos para os europeus. Um velho chinês de macacão desbotado azul-celeste passou apressado, levando no colo algum fragmento irreconhecível e
sanguinolento das vísceras de um porco. “Vamos andar e espiar as barracas, que tal?”, sugeriu Flory. “Não vai haver problema de nos misturarmos com tanta gente? É tanta sujeira...” “Ah, não se preocupe, eles abrem caminho para nós. Você vai achar interessante.” Elizabeth o seguiu, em dúvida e um tanto contra a vontade. Por que ele sempre a levava àqueles lugares? Por que estava sempre querendo forçá-la a se misturar com os “nativos”, tentando fazer com que se interessasse por eles e visse de perto seus hábitos imundos e asquerosos? De alguma forma, aquilo estava muito errado. Ainda assim ela o acompanhou, pois se sentiu incapaz de explicar sua relutância. Foram recebidos por uma baforada de ar sufocante; havia um cheiro forte de alho, peixe seco, suor, poeira, anis, cravo e cúrcuma. A multidão se deslocava em torno deles, ondas de camponeses atarracados com o rosto escuro da cor de charutos, velhos enrugados com o cabelo branco amarrado em coque atrás da cabeça, jovens mães carregando bebês nus encavalados nos quadris. Flo foi pisada e ganiu. Ombros fortes e baixos colidiram com Elizabeth, enquanto os camponeses, ocupados demais em suas negociações de preço para sequer levantarem os olhos para a mulher branca, deslocavam-se de barraca em barraca. “Olhe!” Flory apontava com a bengala para uma barraca e dizia alguma coisa, mas suas palavras foram abafadas pelos berros de duas mulheres que sacudiam os punhos no rosto uma da outra por causa de um cesto de abacaxis. Elizabeth se retraíra diante do mau cheiro e do tumulto, mas ele não percebeu, e a conduziu ainda mais para dentro da massa, apontando para essa ou aquela barraca. As mercadorias tinham uma aparência desconhecida, estranha e pobre. Havia imensos grapefruits pendendo de cordões como luas verdes, bananas vermelhas, cestos de pitus da cor de heliotrópios e do tamanho de lagostas, peixes secos quebradiços amarrados em pacotes, pimentões vermelhos, patos abertos ao meio e defumados como presuntos, cocos verdes, larvas de besouros gigantes, roletes de cana, dahs, sandálias laqueadas, longyis de seda ordinária, afrodisíacos na forma de pílulas imensas que pareciam sabão, potes de cerâmica envernizada de mais de um metro de altura, doces chineses feitos de alho e açúcar, charutos verdes e brancos, berinjelas roxas, colares de semente de caqui, galinhas vivas em gaiolas de vime, budas de estanho, folhas de bétel em forma de coração, frascos de sal de Kruschen, apliques de cabelo falso, panelas de barro vermelho, ferraduras de aço para bois de carro, marionetes de papel machê, tiras de couro de crocodilo com propriedades mágicas. A cabeça de Elizabeth começou a girar. Na outra extremidade do bazar, o sol brilhava através da sombrinha de um sacerdote, num tom de vermelho-sangue, como se através da orelha de um gigante. Diante de uma barraca, quatro mulheres dravidianas moíam cúrcuma em imensos pilões de madeira com pesados almofarizes. O pó amarelo de aroma picante alçava vôo pelos ares e incomodou as narinas de Elizabeth, fazendo-a espirrar. Ela sentiu que não conseguiria agüentar aquele lugar nem mais um minuto. Tocou no braço de Flory.
“Tanta gente... e o calor está terrível. O senhor acha que podíamos encontrar uma sombra?” Ele se virou. A bem da verdade, estava tão absorto em falar — quase inaudivelmente, por causa do burburinho reinante — que nem reparara o quanto o calor e os cheiros fortes a estavam afetando. “Ah, sinto muito, de verdade. Vamos sair daqui já. Tive uma idéia, vamos até a loja do velho Li Yeik, é o merceeiro chinês, e ele nos dará algo para beber. Aqui está mesmo sufocante.” “Tantos temperos... fica difícil respirar. E que cheiro horrível é este, que lembra peixe?” “Ah, é só um tipo de tempero que eles preparam à base de camarão. Eles enterram o camarão e desenterram depois de algumas semanas.” “Que coisa pavorosa!” “Mas faz muito bem à saúde, pelo que me disseram. Saia daí!”, acrescentou ele, dirigindo-se a Flo, que farejava um cesto cheio de peixinhos que lembravam gobiões com espinhas nas guelras. A loja de Li Yeik dava para a outra extremidade do bazar. O que Elizabeth de fato queria era voltar para o Clube, mas achou o ar europeu da fachada da loja de Li Yeik — que exibia pilhas de camisas de algodão feitas em Lancashire e relógios alemães a um preço incrivelmente baixo — de alguma forma reconfortante, depois de todo o barbarismo do bazar. Estavam subindo os degraus da entrada quando um jovem esguio de uns vinte anos, trajando de maneira abominável um longyi, um blazer azul de críquete e sapatos amarelos, com o cabelo repartido e impregnado de brilhantina “à moda Ingaleik”, destacou-se da multidão e dirigiu-se diretamente a eles. Cumprimentou Flory com um ligeiro aceno desajeitado, como se mal reprimisse o impulso de fazer-lhe uma reverência profunda. “O que foi?”, perguntou Flory. “Carta, senhor Flory.” E apresentou-lhe um envelope ensebado. “Pode me desculpar?”, perguntou Flory a Elizabeth, abrindo a carta. Era de Ma Hla May — ou melhor, fora escrita por ela, que assinara com uma cruz — e lhe exigia cinqüenta rupias, em tom vagamente ameaçador. Flory puxou o jovem de lado. “Você fala inglês? Diga a Ma Hla May que mais tarde converso com ela. E diga que, se tentar me chantagear, nunca mais receberá nada. Está entendendo?” “Sim, senhor.” “E agora suma daqui. E não fique me seguindo, ou vai sofrer as conseqüências.” “Sim, senhor.” “Um escrevente atrás de um emprego”, explicou Flory a Elizabeth enquanto subiam a escada da entrada da loja. “Eles aparecem com pedidos a todo momento.” E refletiu que o tom da carta era curioso, porque ele não esperara que Ma Hla May
começasse a chantageá-lo tão depressa; porém, naquele instante ele não tinha tempo para especular sobre o que aquilo poderia querer dizer. Entraram na loja, que lhes pareceu escura depois de toda a claridade do lado de fora. Li Yeik, que estava sentado fumando em meio a seus cestos de mercadoria — não havia balcão na loja —, avançou pesadamente e com grande esforço quando viu quem tinha entrado. Flory era seu amigo. Ele era um velho de joelhos arqueados vestido de azul, que usava uma pequena trança, com um rosto amarelo sem queixo, todo feito de ossos malares, como um crânio benevolente. Cumprimentou Flory com sons anasalados que lembravam uma buzina e que ele pretendia fazer passar por palavras birmanesas, e na mesma hora foi bamboleando até o fundo da loja pedir que trouxessem alguma bebida. Pairava no ambiente um cheiro fresco e adocicado de ópio. Havia longas tiras de papel vermelho com letras pretas coladas nas paredes, e de um dos lados um pequeno altar com um retrato de duas pessoas gordas e de ar sereno envergando túnicas bordadas, e dois bastões de incenso queimando à frente delas. Duas mulheres chinesas, uma velha e a outra bem jovem, estavam sentadas numa esteira enrolando em palha de milho cigarros feitos com um tabaco que lembrava pêlo de cavalo picado. Vestiam calças pretas de seda, e seus pés, com a parte superior inchada e deformada, estavam enfiados em chinelinhos de madeira de salto vermelho não maiores que os de uma boneca. Uma criança nua engatinhava lentamente pelo chão, como um grande sapo amarelo. “Olhe só para os pés dessas mulheres!”, sussurrou Elizabeth assim que Li Yeik lhes deu as costas. “Não é uma coisa horrenda? Como é que ficam assim? Não é natural!” “Não, são deformados artificialmente. Está saindo da moda na China, pelo que eu soube, mas essas pessoas aqui são antiquadas. A trancinha do velho Li Yieik é outro anacronismo. E esses pés pequeninos são lindos, de acordo com o conceito chinês.” “Lindos! São tão horríveis que nem consigo olhar para eles. Essas pessoas só podem ser completos selvagens!” “Ah, não! São altamente civilizados; mais civilizados do que nós, na minha opinião. A beleza é sempre uma questão de gosto. Existe um povo, neste país, chamado de palaung, que admira mulheres de pescoço comprido. As moças então usam anéis grossos de metal para esticar os pescoços, e vão pondo mais e mais desses anéis até no final ficarem com o pescoço parecido com o de girafa. O que não é mais estranho, afinal, do que espartilhos ou crinolinas.” Nesse momento, Li Yieik voltou com duas moças birmanesas gordas, de rosto redondo, evidentemente irmãs, rindo e carregando duas cadeiras e um bule de chá chinês, azul, com capacidade para dois litros. As duas moças eram ou tinham sido concubinas de Li Yeik. O velho também trouxera uma lata de chocolates e, enquanto abria a tampa, sorria de modo paternal, expondo três dentes compridos e enegrecidos pelo fumo. Elizabeth sentou-se com uma disposição de espírito desconfortável. Tinha plena certeza de que não podia estar certo aceitar a hospitalidade daquelas
pessoas. Uma das jovens birmanesas tinha-se postado imediatamente atrás das cadeiras, abanando Elizabeth e Flory com um leque, enquanto a outra ajoelhou-se aos pés deles para servir-lhes o chá. Elizabeth sentia-se ridícula com a jovem abanando sua nuca e o chinês sorrindo à sua frente. Flory parecia sempre metê-la nessas situações embaraçosas. Pegou um chocolate da lata que Li Yeik lhe oferecia, mas não conseguiu se obrigar a agradecer. “Isso está certo?”, sussurrou para Flory. “Certo?” “Quer dizer, podemos vir nos sentar na casa dessas pessoas? Não é uma coisa... uma coisa inconveniente?” “Com um chinês, não há problema. Neste país eles são uma raça muito privilegiada. E têm opiniões bastante democráticas. O melhor é tratá-los mais ou menos em pé de igualdade.” “Mas este chá parece abominável. Totalmente verde. O senhor acha que eles pelo menos põem algum leite?” “Mas não é ruim. É um tipo especial de chá que o velho Li Yeik recebe da China. Acho que é misturado com flor de laranjeira.” “Argh! Tem gosto de terra”, disse ela depois de provar. Li Yeik ficou segurando seu cachimbo, que tinha mais de meio metro de comprimento e uma fornalha de metal do tamanho de uma avelã, e observando os europeus, para ver se gostavam do seu chá. A jovem detrás das cadeiras disse alguma coisa em birmanês, diante da qual ela própria e a outra tornaram a explodir em risadinhas. A moça ajoelhada no chão ergueu os olhos e fitou Elizabeth com um ar de ingênua admiração. Em seguida, virou-se para Flory e perguntou-lhe, numa pronúncia curiosa, se a inglesa usava espartilho. “Shhh!”, fez Li Yeik com ar escandalizado, cutucando a moça com o dedo do pé para fazê-la calar-se. “Eu não tenho coragem de perguntar”, respondeu Flory. “Oh, thakin, por favor, pergunte! Estamos tão ansiosas para saber!” Seguiu-se uma discussão, e a jovem atrás da cadeira esqueceu-se do leque e entrou na conversa. Ao que parece, o que as duas mais desejavam na vida era ver um genuíno espartilho. Tinham ouvido falar tanto naquilo; que eram feitos de aço formando um colete, e que apertavam tanto o tronco da mulher que ela ficava sem peitos, totalmente sem peitos! E as moças apertavam as costelas com as mãos para ilustrar sua idéia. Será que Flory não faria mesmo a gentileza de perguntar àquela dama inglesa? Atrás da loja, havia uma sala aonde ela poderia ir com as duas para tirar a roupa. Elas queriam tanto ver um espartilho! E então a conversa morreu de repente. Elizabeth estava sentada numa posição rígida, tendo na mão a pequena xícara de chá que não conseguia convencer-se a levar outra vez à boca, e exibindo um sorriso congelado. Os orientais ficaram
consternados; perceberam que a moça inglesa, que não tinha como participar da conversa, estava constrangida. Sua elegância e sua beleza estrangeira, que encantara a todos momentos antes, começaram a lhes parecer um tanto assustadoras. E mesmo Flory, até certo ponto, compartilhou de igual sentimento. Instalou-se um desses momentos terríveis que ocorrem entre ocidentais e orientais, quando todos evitam os olhos de todos, tentando em vão encontrar o que dizer. Nesse momento, a criança nua, que vinha explorando alguns cestos nos fundos da loja, veio engatinhando até onde estavam os europeus. Examinou seus sapatos e meias com grande interesse, mas ao olhar para cima e ver seus rostos brancos foi tomada pelo terror. Soltou um vagido desesperado e começou a urinar no chão. A velha chinesa ergueu os olhos, estalou a língua e continuou a enrolar cigarros. Ninguém deu a mínima. Uma poça formava-se no assoalho. Elizabeth estava tão horrorizada que pousou a xícara às pressas e derramou seu chá. Ela agarrou o braço de Flory. “A criança! Veja o que ela está fazendo! Realmente, será que ninguém... Mas que coisa horrível!” Por um instante, todos ficaram olhando, atônitos, mas em seguida entenderam qual era o problema. Houve uma correria e um estalar geral de línguas. Ninguém tinha prestado atenção na criança — era um incidente normal demais para ser registrado — e agora sentiam uma vergonha terrível. Todos começaram a culpar a criança. Exclamaram: “Que criança terrível! Que criança sem modos!”. A velha chinesa saiu carregando a criança, que ainda berrava, até a porta, e a segurou acima dos degraus como se espremesse uma esponja de banho. E no mesmo instante, ao que parece, Flory e Elizabeth tinham saído da loja, e ele a seguia pelo bazar de volta à estrada, com Li Yeik e os demais correndo desolados atrás dos dois. “Se isso é o que o senhor chama de pessoas civilizadas...!”, exclamava ela. “Sinto muito”, disse ele com voz fraca. “Eu nunca pensei...” “Que pessoas mais repulsivas!” Ela estava enfurecida. Seu rosto assumira um lindo e delicado tom rosa, como um botão de papoula que se abrisse um dia antes do esperado. Era a cor mais forte possível. Ele a seguiu através de todo o bazar e de volta à estrada, e já tinham caminhado bem mais de quarenta metros quando ele arriscou a falar de novo. “Sinto muito que isso tenha acontecido! Li Yeik é um sujeito muito decente. Ficará arrasado se achar que a ofendeu. A verdade é que teria sido melhor ficar por lá mais alguns minutos. Só para agradecermos pelo chá.” “Agradecer! Depois daquilo!” “Mas, sinceramente, você não devia se incomodar tanto com esse tipo de coisa. Não neste país. A maneira como essas pessoas vêem as coisas é muito diferente da nossa. Nós precisamos nos ajustar. Vamos imaginar, por exemplo, que você voltasse para a Idade Média...” “Acho preferível não falar mais sobre isso.”
Foi a primeira vez que se desentenderam de fato. E ele ficou tão desolado que nem chegou a se perguntar de que maneira a teria ofendido. Não percebia que seus esforços constantes para interessá-la pelas coisas do Oriente só pareciam a ela a expressão de um gosto perverso, uma atitude pouco cavalheiresca, uma procura deliberada da miséria e do “intragável”. Até agora, ele ainda não tinha percebido com que olhos ela encarava os “nativos”. Tudo que sabia era que, a cada tentativa de fazê-la compartilhar sua vida, seus pensamentos, seu senso de beleza, mais ela se afastava dele, como um cavalo assustado. Caminharam estrada acima, ele à esquerda dela e um pouco atrás. Vinha olhando para o rosto que ela mantinha virado e para os pelinhos dourados de sua nuca, abaixo da aba do seu chapéu terai. Como ele amava, como amava aquela mulher! Era como se só tivesse começado a amá-la naquele momento em que caminhava atrás dela coberto de vergonha, sem se atrever sequer a mostrar-lhe o rosto desfigurado. Fez menção de falar diversas vezes, mas se conteve. Sua voz não estava bem firme, e não sabia o que poderia lhe dizer sem correr o risco de ofendê-la de alguma forma. E finalmente ele falou, em tom neutro, tentando fazer de conta que não havia nenhum problema: “O calor está ficando insuportável, não é mesmo?”. Com a temperatura a bem mais de trinta graus à sombra, não era exatamente uma observação brilhante. Mas, para sua surpresa, ela aferrou-se àquelas palavras com uma estranha avidez. Virou-se para ele, e estava de novo sorridente. “Sim, está simplesmente um forno!” E com isso fizeram as pazes. Aquelas palavras tolas e banais, que evocavam a atmosfera reconfortante das conversas vazias do Clube, tinham-na acalmado como que por encanto. Flo, que havia ficado para trás, chegou ofegante, babando muito; dali a pouco estavam conversando, como de hábito, sobre cachorros. Conversaram sobre cães pelo resto do caminho até em casa, quase sem parar. Os cães são um tema inesgotável. Cães, cães!, pensava Flory enquanto subiam a colina em meio ao calor, com o sol que subia queimando-lhes os ombros através das roupas finas, como o bafo de uma fornalha — será que nunca conseguiriam conversar sobre nada além de cães? Ou, na falta de cães, sobre discos de gramofone e raquetes de tênis? E mesmo quando se atinham àquelas baboseiras, como era fácil, como era simpática a conversa entre eles! Passaram pelo muro branco e cintilante do cemitério e chegaram ao portão da casa dos Lackersteen. Flamboyants dourados erguiam-se dos dois lados, e também um pequeno bosque de malvas-rosa de dois metros e meio de altura, com flores redondas e rubras que lembravam rostos de jovens muito coradas. Flory tirou o chapéu na sombra e abanou o rosto. “Bem, conseguimos voltar antes que o pior calor começasse. Mas parece que o nosso passeio ao bazar não foi exatamente um sucesso.” “Oh, nada disso! Eu gostei, na verdade gostei, sim!”
“Não, eu não sei, parece que alguma coisa desagradável sempre dá um jeito de acontecer. Ah, aliás! Não se esqueceu de que vamos caçar depois de amanhã, não é? Espero que seja um dia bom para você!” “Ah, sim, e meu tio vai me emprestar a arma dele. Será ótimo! O senhor vai ter de me ensinar a caçar. Estou tão ansiosa!” “Eu também. Não é a melhor época do ano para a caça, mas faremos o possível. Então, por enquanto, até logo.” “Até logo, senhor Flory.” Ela ainda o chamava de sr. Flory, embora ele a chamasse de Elizabeth. Despediram-se e seguiram cada qual o seu caminho, ambos pensando na caçada, que, sentiam os dois, de alguma forma haveria de acertar as coisas entre eles.
*
12. No calor pegajoso e sonolento da sala, quase às escuras graças às cortinas de contas, U Po Kyin caminhava lentamente de um lado para o outro, gabando-se. De vez em quando enfiava a mão por baixo da camiseta e coçava as mamas suarentas, imensas como as de uma mulher devido à gordura. Ma Kin estava sentada em sua esteira, fumando finos charutos brancos. Através da porta aberta do quarto, dava para ver o canto da imensa cama quadrada de U Po Kyin, com suas colunas de teca esculpida, como um catafalco, em que ele cometera muitos e muitos estupros. Ma Kin ouvia pela primeira vez a “outra história” que se encontrava por trás do ataque de U Po Kyin ao dr. Veraswami. Por mais que desprezasse a inteligência da mulher, U Po Kyin mais cedo ou mais tarde acabava revelando seus segredos a Ma Kin. Ela era a única pessoa em seu círculo imediato que não tinha medo dele, e havia portanto um prazer especial em impressioná-la. “Pois bem, Kin Kin”, disse ele, “você pode ver como está tudo correndo de acordo com os meus planos! Dezoito cartas anônimas até agora, cada uma delas uma obraprima. Eu leria algumas para você, se achasse que você seria capaz de apreciá-las.” “Mas e se os europeus não derem importância às suas cartas anônimas? O que vai acontecer?” “Não dar importância? Ah, nem se preocupe com isso! Acho que tenho uma boa idéia de como funciona a mentalidade européia. Vou lhe dizer, Kin Kin, se existe uma coisa que eu sei fazer bem, é escrever uma carta anônima.” O que era verdade. As cartas de U Po Kyin já tinham causado um efeito considerável, especialmente sobre o seu principal alvo, o sr. Macgregor. Dois dias antes, o sr. Macgregor tinha passado uma noite muito agitada tentando decidir se o dr. Veraswami era ou não culpado de deslealdade ao governo. Claro que não se cogitava de nenhum gesto declarado de deslealdade — o quê, afinal, era de todo irrelevante. A questão era concluir se o médico era ou não o tipo de homem capaz de cultivar opiniões sediciosas. Na Índia, a pessoa não é julgada pelo que faz, mas pelo que é. A mais leve sombra de suspeita contra a sua lealdade pode arruinar um funcionário oriental. O sr. Macgregor tinha uma natureza justa demais para condenar sem bom motivo até mesmo um oriental. Havia quebrado a cabeça até a meia-noite diante de uma pilha de papéis confidenciais, entre os quais estavam as cinco cartas anônimas que tinha recebido, além de duas outras que lhe haviam sido encaminhadas por Westfield, presas uma à outra por um espinho de cacto. E não eram só as cartas. Rumores sobre o médico brotavam de todos os cantos. U Po Kyin tinha plena clareza de que chamar o médico de traidor, por si só, não bastava; era preciso atacar a sua reputação de todos os ângulos possíveis. O médico foi acusado não só de sedição como ainda de extorsão, estupro, tortura, da prática de cirurgias ilegais, da prática de cirurgias num estado de profunda embriaguez, de assassinato por envenenamentos, de assassinato por magia negra, de comer carne, de
vender certidões de óbito a assassinos, de usar sapatos no recinto de um pagode e de fazer propostas homossexuais ao menino que tocava tambor na banda da Polícia Militar. Ao ouvir o que se dizia dele, qualquer um imaginaria que o médico era uma mistura de Maquiavel com Sweeney Todd e marquês de Sade. O sr. Macgregor não dera muita atenção às cartas num primeiro momento. Estava acostumado demais a esse tipo de coisa. Mas com as últimas cartas anônimas U Po Kyin tinha desferido um golpe que era brilhante, mesmo para ele. Dizia respeito à fuga de Nga Shwe O, o dacoit, da cadeia de Kyauktada. Nga Shwe O, que estava no meio de uma merecida sentença de sete anos, vinha preparando sua fuga havia vários meses, e para começar seus amigos do lado de fora tinham subornado um dos carcereiros indianos. O carcereiro recebera cem rupias adiantadas, pedira licença para ir visitar um parente no leito de morte e passara vários dias muito movimentados nos bordéis de Mandalay. O tempo passou, o dia da fuga foi adiado várias vezes e o carcereiro, enquanto isso, foi ficando cada vez mais apegado aos bordéis. Por fim, ele decidiu tentar receber mais uma recompensa revelando o plano de fuga a U Po Kyin. Mas U Po Kyin, como de costume, viu ali uma oportunidade. Mandou o carcereiro ficar calado, sob pena de terríveis represálias, e então, na mesma noite prevista para a fuga, quando já era tarde demais para fazer alguma coisa, mandou outra carta anônima ao sr. Macgregor, avisando-o de que uma tentativa de fuga estava em andamento. E acrescentava na carta, nem é necessário dizer, que o dr. Veraswami, superintendente da cadeia, tivera a sua conivência comprada. Na manhã seguinte, houve um tumulto e uma grande correria de carcereiros e policiais na prisão, pois Nga Shwe O tinha escapado. (E ele já estava muito longe, rio abaixo, numa sampana providenciada por U Po Kyin.) Dessa vez o sr. Macgregor ficou perplexo. Quem quer que lhe escrevera aquela carta parecia ter conhecimento do plano e devia estar dizendo a verdade quando mencionava a conivência do médico. Era um caso muito sério. Um superintendente da cadeia que aceita suborno para deixar um criminoso fugir é capaz de qualquer coisa. E assim — talvez a seqüência lógica não fosse muito clara, mas era clara o bastante para o sr. Macgregor —, e assim a acusação de sedição, que era a principal pecha contra o médico, se tornava muito mais crível. U Po Kyin atacara os outros europeus ao mesmo tempo. Flory, que era amigo do médico e sua principal fonte de prestígio, fora facilmente amedrontado e o abandonara. Com Westfield tinha sido um pouco mais difícil. Por ser policial, Westfield sabia de muita coisa sobre U Po Kyin e poderia talvez atrapalhar seus planos. Policiais e magistrados são inimigos naturais. Mas U Po Kyin tinha conseguido transformar até esse fato em vantagem. Acusara o médico, anonimamente, claro, de estar mancomunado com o notório escroque e corrupto U Po Kyin. O que foi suficiente para Westfield. Quanto a Ellis, nenhuma carta anônima foi necessária no seu caso, pois nada poderia fazê-lo formar do médico uma idéia
pior do que a que já tinha. U Po Kyin chegara até a mandar uma de suas cartas anônimas para a sra. Lackersteen, pois sabia como era grande o poder das mulheres européias. O dr. Veraswami, dizia a carta, vinha incitando os nativos a seqüestrarem e estuprarem mulheres européias — não dava detalhes, mas nem precisava. U Po Kyin atingira o ponto fraco da sra. Lackersteen. Para ela, as palavras “sedição”, “nacionalismo”, “rebelião” e “governo autônomo” só evocavam uma coisa: uma imagem de si mesma sendo estuprada por uma procissão de coolies de pele muito preta e olhos arregalados. Era uma idéia que às vezes a mantinha acordada a noite inteira. Qualquer boa impressão que os europeus pudessem ter tido do médico em algum momento vinha desabando rapidamente. “Está vendo, então”, disse U Po Kyin com ar muito satisfeito, “está vendo como eu enfraqueci a reputação dele? Ele agora está como uma árvore serrada junto à raiz. Basta um empurrão e ele desaba. Daqui a três semanas, ou menos, vou dar esse empurrão.” “Como?” “Já chego lá. Acho que já está na hora de você ficar sabendo. Você não compreende muito bem essas questões, mas sabe ficar de boca fechada. Você ouviu falar dessa rebelião que andam preparando perto da aldeia de Thongwa?” “Ouvi. São uns idiotas, esses aldeões. O que eles acham que podem fazer, com seus dahs e lanças, contra os soldados indianos? Vão ser caçados como animais selvagens.” “Claro. Se algum combate acontecer, vai ser um massacre. Mas eles são apenas um bando de camponeses supersticiosos. Estão pondo fé nesses absurdos casacos à prova de balas que estão sendo distribuídos a eles. Eu desprezo a ignorância desse tipo.” “Coitados! Por que você não manda eles pararem, Ko Po Kyin? Nem precisa prender ninguém. Basta ir até a aldeia e dizer que sabe o que eles andam planejando, e eles nunca vão se atrever a levar essa idéia adiante.” “Ora, eu podia mesmo acabar com isso se eu quisesse, é claro. Mas prefiro não fazer nada. Tenho os meus motivos. Entenda, Kin Kin — e por favor não diga nada sobre isto —, essa rebelião, de certa forma, é minha. Fui eu mesmo que comecei tudo.” “O quê?” Ma Kin deixou cair o charuto. Seus olhos se arregalaram tanto que o branco azulado aparecia em toda a volta da pupila. Ela estava horrorizada. E explodiu... “Ko Po Kyin, o que você está dizendo? Deve estar inventando coisas! Você, organizando uma rebelião? Não pode ser verdade!” “Pois é claro que é verdade. E estamos fazendo tudo muito direitinho. O mago que eu mandei trazer de Rangoon é um sujeito muito esperto. E já correu a Índia toda
como mágico de circo. Os casacos à prova de balas foram comprados nas lojas Whiteaway & Laidlaw, a uma rupia e oito annas cada um. Estão me custando um bom dinheiro, isso eu lhe garanto.” “Mas, Ko Po Kyin! Uma rebelião! Os combates e os tiroteios, e todos os pobres coitados que vão acabar mortos! Tem certeza de que não enlouqueceu? E não tem medo de levar um tiro também?” U Po Kyin parou de andar de um lado para o outro. Estava pasmo. “Ora bolas, mulher, com que idéia você cismou agora? Não está imaginando que eu me rebelei contra o governo! Eu, um funcionário público com trinta anos de carreira! Ora essa! Não! Eu disse que tinha começado a rebelião e não que ia participar dela. São esses camponeses idiotas que vão arriscar a vida, e não eu. Não passa pela cabeça de ninguém que eu tenha alguma coisa a ver com isso, além de Ba Sein e mais uma ou duas pessoas.” “Mas você disse que foi você quem estava convencendo os camponeses a se rebelar?” “Claro. Se eu acusei Veraswami de organizar uma rebelião contra o governo, agora preciso que aconteça uma rebelião, não é?” “Ah, entendi. E quando a rebelião começar, você vai dizer que a culpa é do doutor Veraswami. É isso?” “Como você é lenta! Eu achava que até um idiota perceberia que só estou organizando essa rebelião para poder esmagá-la. Estou sendo, como é a expressão que o senhor Macgregor usa? O agent provocateur. É latim, você não tem como entender. Eu sou o agent provocateur. Primeiro eu convenço esses idiotas de Thongwa a se rebelarem e depois vou lá e prendo todos como rebeldes. No momento em que a revolta deveria começar, eu caio em cima dos líderes e enfio todos na cadeia. Depois disso, pode ser que ainda haja alguns combates. Pode ser que alguns homens sejam mortos e outros mandados para as Andamanes. Mas enquanto isso, serei o primeiro a chegar ao campo de batalha. U Po Kyin, o homem que abafou um levante perigosíssimo na hora exata! Vou me transformar no herói do distrito!” U Po Kyin, merecidamente orgulhoso de seu plano, recomeçou a andar de um lado para o outro pelo quarto com as mãos atrás das costas, sorrindo. Ma Kin refletiu em silêncio sobre o plano por algum tempo. Por fim disse: “Ainda não entendi por que você vai fazer isso, Ko Po Kyin. Aonde isso tudo vai levar? E o que tem a ver com o doutor Veraswami?” “Nunca vou conseguir ensinar você a pensar sobre as coisas, Kin Kin! Eu não lhe contei, antes de mais nada, que Veraswami estava no meu caminho? E essa rebelião vem a calhar para acabarmos com ele. Claro que nunca vamos conseguir provar que o responsável foi ele, mas o que importa? Todos os europeus vão acreditar piamente que ele está envolvido de algum modo. É assim que a mente deles funciona. Ele vai ter a vida destruída, e a queda dele será a minha ascensão. Quanto mais a imagem dele ficar negra, mais o meu desempenho vai parecer grandioso. Agora você
entendeu?” “Sim, entendi. E acho que o seu plano é vil e maligno. E fico admirada de você não sentir vergonha de me contar.” “Ora, Kin Kin! Você não vai querer começar de novo com essas suas bobagens...” “Ko Po Kyin, por que você só fica satisfeito quando faz maldades? Por que tudo que você faz precisa prejudicar alguma outra pessoa? Pense no pobre médico que vai ser demitido do cargo e nos aldeões que vão levar um tiro, ou serem açoitados com bambu, ou passarem o resto da vida na cadeia. Você precisa mesmo fazer essas coisas? O que você pode querer com mais dinheiro, quando já é tão rico?” “Dinheiro! Quem está falando de dinheiro? Algum dia, mulher, você vai perceber que existem outras coisas no mundo além do dinheiro. A fama, por exemplo. A grandeza. Você não vê que é muito provável que o governador da Birmânia acabe pregando uma medalha no meu peito pela lealdade das minhas ações? Será que nem você vai ficar orgulhosa de uma honraria como essa?” Ma Kin balançou a cabeça, nada impressionada. “Quando você vai lembrar, Ko Po Kyin, que não vai viver mil anos? Pense no que acontece com os homens que levaram uma vida de maldades. Existe, por exemplo, o destino de ser transformado num rato ou num sapo. E existe até o inferno. Eu me lembro do que um sacerdote me disse sobre o inferno, uma coisa que precisava ser traduzida das escrituras pali, e era terrível. E me disse, ‘a cada mil séculos, duas lanças em brasa vão se encontrar no seu coração, e você vai pensar que mais mil séculos dos seus tormentos se passaram, e que ainda virão muitos, como muitos já se passaram’. Você não acha horrível pensar nessas coisas, Ko Po Kyin?” U Po Kyin riu e fez um aceno despreocupado com a mão, que significava “coisas dos pagodes”. “Bem, eu espero que você continue rindo quando o fim chegar. Mas eu, por mim, não queria ter de rememorar uma vida como essa.” Ela reacendeu seu charuto com o ombro magro reprovadoramente virado para U Po Kyin, enquanto ele percorria mais vezes a extensão da sala. Quando ele falou, foi em tom mais sério do que antes, e mesmo com uma ponta de insegurança. “Sabe, Kin Kin, existe outra questão por trás disso tudo. Uma coisa que eu nunca falei com você nem com mais ninguém. Nem mesmo Ba Sein sabe. Mas acho que vou lhe contar agora.” “Não quero ouvir, se forem novas maldades.” “Não, não. Você perguntou agora mesmo qual era o meu verdadeiro objetivo nessa história toda. Você deve estar achando que eu quero arruinar Veraswami só porque não gosto dele e que as idéias dele sobre suborno me incomodam. Não é só isso. Existe outra coisa muito mais importante, e que diz respeito tanto a mim quanto a você.” “O que é?”
“Você nunca sentiu dentro de si, Kin Kin, um desejo de coisas mais altas? Nunca lhe pareceu que, depois de tudo o que conquistamos, pode-se dizer que estamos quase na mesma posição de quando começamos? Eu devo ter reunido, talvez, uns dois lakhs de rupias, mas ainda assim, olhe como vivemos! Olhe para esta sala! Sem dúvida, não é melhor que a da casa de um camponês, em nada. Estou cansado de comer com as mãos e só me dar com birmaneses — gente pobre, inferior —, e de viver, como diria você, como um miserável funcionário de cidade pequena. O dinheiro não basta; eu também quero sentir que subi na vida. Às vezes você não deseja um estilo de vida um pouco mais, como posso dizer?... elevado?” “Não sei como poderíamos querer mais do que já temos. Quando eu era menina na minha aldeia, nunca pensei que um dia fosse viver numa casa como esta. Olhe para essas poltronas inglesas — nunca sentei numa delas na vida. Mas sinto muito orgulho de olhar para elas e pensar que são minhas.” “Tch! Por que você foi embora dessa sua aldeia, Kin Kin? Você foi feita para ficar trocando mexericos junto ao poço com um jarro de água na cabeça. Mas eu sou mais ambicioso, graças a Deus. E agora vou lhe contar o verdadeiro motivo das minhas intrigas contra Veraswami. Estou planejando fazer uma coisa realmente magnífica. Uma coisa nobre, gloriosa! Uma coisa que é a honraria mais alta a que um oriental pode aspirar. Você sabe do que eu estou falando, claro.” “Não. Do quê?” “Ora, vamos lá! Da maior realização da minha vida! Você não consegue adivinhar?” “Ah, já sei! Você vai comprar um automóvel. Mas ah, Ko Po Kyin, por favor, não espere que eu vá andar nele!” U Po Kyin atirou as mãos para o alto, desalentado. “Um automóvel! Você pensa como um vendedor de amendoim do bazar! Se eu quisesse, podia comprar até vinte automóveis! E de que iria me servir um automóvel neste lugar? Não, é uma coisa muito mais grandiosa.” “O que é, então?” “É o seguinte. Por acaso eu sei que daqui a um mês os europeus vão escolher um nativo para membro do Clube. Eles não querem fazer isso, mas vão receber ordens do comissário e vão ter de obedecer. Naturalmente, eles escolheriam Veraswami, que é o funcionário nativo mais graduado do distrito. Mas eu consegui desonrar Veraswami. E assim...” “O quê?” Por um momento, U Po Kyin não respondeu. Olhou para Ma Kin, e seu vasto rosto amarelo, com seu queixo largo e seus incontáveis dentes, assumiu uma expressão tão suave que quase lembrava o de uma criança. Pode ser que até algumas lágrimas tenham brotado de seus olhos alaranjados. E ele disse com voz contida, quase reverente, como se a grandiosidade do que ia dizer fosse demais para ele: “Mas não está vendo, mulher? Não está vendo que, se Veraswami cair em
desgraça, sou eu que vou ser admitido no Clube?” O efeito de suas palavras foi esmagador. Não se ouviu mais nem um pio de contestação da parte de Ma Kin. A magnificência do projeto de U Po Kyin a deixara muda. E não sem motivo, porque todas as conquistas da vida de U Po Kyin não eram nada em comparação com isso. Era um autêntico triunfo — e um duplo triunfo em Kyauktada — um funcionário de posição inferior conseguir infiltrar-no no Clube Europeu. O Clube Europeu, aquele remoto e misterioso templo, aquele santuário dos santuários, de acesso muito mais difícil do que o nirvana! Po Kyin, o menino nu das sarjetas de Mandalay, o escrevente desonesto e funcionário obscuro, iria entrar naquele lugar sagrado, chamar os europeus de “camaradas”, tomar uísque com soda e impelir bolas brancas de um lado para o outro na mesa verde! Ma Kin, a aldeã, que vira a primeira luz pelas frestas de uma cabana de bambu coberta de folhas de palmeira, iria sentar-se numa poltrona alta com os pés encerrados em meias de seda e calçando sapatos de salto alto (ah, sim, ela iria usar sapatos de verdade para ir a esse lugar!), conversando com as damas inglesas em hindustâni sobre roupinhas de bebê! Um projeto que deixaria qualquer um deslumbrado. Por muito tempo Ma Kin ficou em silêncio, os lábios abertos, pensando no Clube Europeu e nos esplendores que ele podia conter. Pela primeira vez na vida, ela passou em revista as intrigas de U Po Kyin sem reprová-las. Talvez fosse uma façanha ainda maior que o assalto ao Clube haver plantado uma semente de ambição no coração bondoso de Ma Kin.
*
13. Quando Flory atravessou o portão do complexo hospitalar, quatro varredores esfarrapados passaram por ele, carregando algum coolie morto, envolto em sacos, para uma cova rasa na selva. Flory cruzou o pátio de terra cor de tijolo entre as várias construções baixas que compunham o hospital. Em toda a extensão das largas varandas, em charpoys sem lençol, jaziam fileiras de homens de rosto cinzento, calados e imóveis. Alguns cães imundos, que tinham fama de devorar os membros amputados, cochilavam ou tentavam arrancar suas pulgas a dentadas em meio aos esteios de sustentação dos prédios. O lugar exibia um ar de sujeira e declínio. O dr. Veraswami se esforçava para mantê-lo limpo, mas não havia meio de combater a poeira e o fornecimento irregular de água, além da inércia dos varredores e dos assistentes de cirurgia mal preparados. Disseram a Flory que o médico estava na área dos pacientes externos. Era uma sala com paredes de reboco, que tinha como móveis apenas uma mesa e duas cadeiras, além de um retrato empoeirado da rainha Vitória, muito torto na parede. Uma procissão de birmaneses, camponeses com músculos nodosos por baixo de seus farrapos desbotados, fazia fila na sala e se apresentava um a um junto à mesa. O médico estava em mangas de camisa e suava profusamente. Com uma exclamação de prazer, pôs-se de pé de um salto e, com a insistência habitual, instalou Flory na cadeira vazia e apresentou-lhe uma lata de cigarros que tirou da gaveta. “Que surpresa deliciosa, senhor Flory! Por favor, fique à vontade — quer dizer, se é que alguém consegue ficar à vontade num lugar destes, ha, ha! Mais tarde, na minha casa, vamos conversar, com cerveja e amenidades. Queira me dar licença enquanto eu atendo o populacho.” Flory ficou sentado, o suor quente brotou de imediato e logo encharcou sua camisa. O calor daquela sala era sufocante. Os camponeses emanavam alho por todos os poros. Assim que cada homem se aproximava da mesa, o médico se erguia da cadeira, batia nas costas do paciente, encostava um ouvido negro em seu peito, disparava várias perguntas num péssimo birmanês, depois voltava a se instalar na mesa e escrevia sua prescrição. Os pacientes saíam levando uma receita e atravessavam o pátio até o Farmacêutico, que lhes entregava frascos cheios de água com várias tinturas vegetais. O Farmacêutico sustentava-se principalmente com a venda por fora dos remédios, pois o governo só lhe pagava vinte e cinco rupias por mês. O médico, no entanto, não sabia de nada disso. Na maior parte das manhãs, o médico não tinha tempo de atender ele próprio os pacientes externos, e os deixava a cargo de um dos cirurgiões-assistentes. Os métodos de diagnose dos assistentes eram sumários. Eles simplesmente perguntavam ao paciente onde ele sentia dor, se na cabeça, na barriga ou na costas, e conforme a resposta entregavam uma receita de uma das três pilhas que já tinham preparado de antemão. Os pacientes preferiam de longe esse método ao do médico.
O médico sempre dava um jeito de lhes perguntar se já haviam tido alguma doença venérea — uma pergunta muito indelicada e sem sentido — e às vezes os deixava mais horrorizados ainda ao lhes sugerir alguma operação. “Abrir a barriga”, era como eles diziam. A maioria preferia morrer dez vezes a ter a “barriga aberta”. Depois que o último paciente foi atendido, o médico afundou na cadeira, abanando o rosto com o receituário. “Ah, mas que calor! Em algumas manhãs, fico achando que este cheiro de alho vai continuar no meu nariz para sempre! É impressionante como até o sangue deles acaba impregnado de alho. O senhor não fica sufocado, senhor Flory? Vocês, os ingleses, têm o sentido do olfato desenvolvido demais. Que tormentos não devem sofrer no nosso Oriente tão imundo!” “‘Abandonai vossos narizes, vós que aqui entrais’, não é? Podiam escrever a frase numa faixa em cima do canal de Suez. O senhor está muito ocupado hoje de manhã?” “Como sempre. Ah, meu amigo, como é desanimador o trabalho de um médico neste país! Esses camponeses — selvagens, sujos, ignorantes! Conseguir fazê-los vir ao hospital é o máximo que conseguimos, e eles preferem morrer de gangrena ou andar por dez anos carregando um tumor do tamanho de um melão a enfrentar a faca. E os remédios que os curandeiros deles lhes dão! Ervas colhidas na lua nova, bigodes de tigre, chifre de rinoceronte, urina, sangue menstrual! É repulsivo pensar que existe gente que toma essas preparações!” “Muito pitorescas, ainda assim. O senhor devia compilar uma farmacopéia birmanesa, doutor. Poderia vir a ser quase tão útil quanto o catálogo de ervas medicinais de Culpeper.” “Um bando de bárbaros, um bando de bárbaros”, disse o médico, começando a lutar para se enfiar em seu paletó branco. “Vamos até a minha casa? Tenho cerveja, e acho que ainda me restam alguns pedaços de gelo. Tenho uma operação às dez, uma hérnia estrangulada, muito urgente. Mas até lá estou livre.” “Ótimo. Na verdade, eu queria muito conversar com o senhor a respeito de uma questão.” Tornaram a atravessar o pátio e subiram os degraus da varanda do médico. O doutor Veraswami, após enfiar a mão na caixa de gelo e descobrir que todo o gelo se derretera, transformando-se em água morna, abriu uma garrafa de cerveja e chamou os criados, pedindo-lhes às pressas que pusessem mais algumas garrafas para refrescar num leito de palha molhada. Flory ficou de pé olhando por cima da balaustrada da varanda, ainda com o chapéu na cabeça. O fato era que tinha vindo até ali apresentar suas desculpas. Vinha evitando o médico havia quase duas semanas — na verdade, desde o dia em que assinara aquele aviso ofensivo afixado no quadro do Clube. As desculpas, no entanto, precisavam ser pedidas em voz alta. U Po Kyin era um bom avaliador de homens, mas errara ao supor que duas cartas anônimas fossem suficientes para assustar Flory e afastá-lo definitivamente de seu amigo.
“Escute, doutor, o senhor sabe do que eu quero falar?” “Eu? Não.” “Sabe, sim. É sobre aquela coisa horrível que eu fiz na outra semana. Quando Ellis pregou aquele aviso no quadro do Clube e eu assinei embaixo. O senhor deve ter ouvido falar. Pois agora eu queria lhe explicar...” “Não, não, meu amigo, não, não!” O médico ficou tão perturbado que se levantou de um salto, atravessou a varanda e segurou o braço de Flory. “O senhor não vai me explicar nada! Por favor, nunca nem toque nesse assunto! Eu entendo perfeitamente — entendo perfeitamente.” “Não, o senhor não entende. Não tem como entender. O senhor não imagina o tipo de pressão que a gente sofre antes de chegar a fazer esse tipo de coisa. Nada me obrigava a assinar aquele aviso. Nada iria me acontecer se eu recusasse. Não existe nenhuma lei que nos mande ter um comportamento abominável diante dos orientais — muito pelo contrário. Mas é que ninguém se atreve a ser leal a um oriental quando isso o coloca contra os outros. Não consegue. Se eu teimasse em não assinar o aviso, eu cairia em desgraça no Clube por uma ou duas semanas. E por isso eu cedi, como sempre.” “Por favor, senhor Flory, por favor! O senhor positivamente vai me deixar constrangido se continuar. Como se eu não fosse capaz de entender a sua posição!” “O nosso lema, o senhor sabe, é ‘Na Índia como os ingleses’.” “Claro, claro. Um lema muito respeitável. ‘Um por todos’, como os senhores dizem. É o segredo da superioridade sobre nós, os orientais.” “Bem, nunca adianta muito pedir desculpas. Mas o que eu vim dizer foi que não vai acontecer de novo. Na verdade...” “Ora, ora, senhor Flory, é um favor que o senhor me faz não tocar mais nesse assunto. Acabou, está morto e enterrado. Por favor, tome logo a sua cerveja antes que fique quente como um chá. Eu também tenho uma coisa para lhe dizer. O senhor ainda não me perguntou qual era a minha novidade.” “Ah, a sua novidade. Qual é a sua novidade, por falar nisso? Como está indo tudo esse tempo todo? Como vai a Vovó Britânia? Sempre agonizante?” “Ah, ela vai mal, muito mal! Mas não tanto quanto eu. Estou numa situação complicada, meu amigo.” “O que foi? U Po Kyin de novo? Continua difamando o senhor?” “Se ele continua a me difamar? Desta vez, é... bem, é uma coisa diabólica! Meu amigo, o senhor ouviu falar da revolta que dizem estar a ponto de estourar no distrito?” “Ouvi muitas histórias. Westfield saiu por aí disposto a promover massacres, mas parece que não conseguiu encontrar nenhum rebelde. Só os resistentes de sempre, que se recusam a pagar os impostos.” “Ah, sim. Os idiotas! Sabe de quanto é a taxa que a maioria se recusa a pagar?
Cinco rupias! Vão acabar se cansando disso e pagando logo. Todo ano é o mesmo problema. Mas quanto à revolta — a suposta revolta, senhor Flory — queria que o senhor soubesse que ela tem outras implicações ocultas.” “É mesmo? Quais?” Para surpresa de Flory, o médico fez um gesto tão violento de raiva que derramou a maior parte de sua cerveja. Apoiou o copo na balaustrada da varanda e explodiu: “É novamente U Po Kyin! Um canalha da pior espécie! Um crocodilo sem sentimentos! Um... um...” “Vá em frente. ‘Um obsceno barril de banha, um pacote inchado de doença, um infinito poço de monstruosidade’... vá em frente. O que ele anda fazendo desta vez?” “Uma baixeza sem paralelo...” e aqui o médico descreveu o plano de uma falsa revolta, de forma muito semelhante à descrição que U Po Kyin fizera para Ma Kin. O único detalhe que ele desconhecia era a intenção que U Po Kyin tinha de ser admitido no Clube Europeu. Não se pode dizer com precisão que o rosto do doutor tenha enrubescido, porém ficou vários matizes mais preto em sua fúria. Flory estava tão perplexo que permaneceu de pé. “Mas ele é esperto, o demônio! Quem teria imaginado que ele fosse capaz disso? Como o senhor ficou sabendo de tudo isso?” “Ah, ainda me restam alguns amigos. Mas agora o senhor entende, meu amigo, o tamanho da desgraça que ele está preparando para mim? Já me caluniou de todos os lados. Quando essa revolta absurda começar, ele vai fazer tudo que estiver ao seu alcance para ligar o meu nome a ela. E estou lhe dizendo que a mais ligeira suspeita quanto à minha lealdade pode acabar comigo, pode ser o meu fim! Se começarem a dizer que eu tinha alguma simpatia por essa revolta, estou acabado.” “Mas, ora, é uma afirmação ridícula! O senhor não tem algum modo de se defender?” “Como eu posso me defender se não tenho como provar nada? Eu sei que tudo o que lhe contei é verdade, mas de que me adianta? Se eu pedir a abertura de um inquérito público, para cada testemunha que eu conseguir U Po Kyin vai conseguir cinqüenta contra mim. O senhor não imagina a influência que esse homem tem no distrito. Ninguém se atreve a dizer nada contra ele.” “Mas por que o senhor precisa provar alguma coisa? Por que não vai logo até o velho Macgregor e lhe conta tudo? Ele é um sujeito bastante justo lá ao modo dele. Ele lhe daria ouvidos.” “Inútil, inútil. O senhor não tem mesmo a menor vocação para a intriga, senhor Flory. Qui s’excuse s’accuse, não é assim? Não vale a pena gritar que existe uma conspiração contra a pessoa.” “Bem, então o que senhor vai fazer?” “Não posso fazer nada. Só posso esperar e confiar que o meu prestígio me valha até o fim. Em casos como este, quando a reputação de um funcionário nativo está em jogo, não se trata de uma questão de provas, de evidências. Tudo depende da posição
da pessoa diante dos europeus. Se a minha posição for boa, eles não vão acreditar que eu fiz essas coisas; se for ruim, eles acreditam. Tudo é prestígio.” Ficaram calados por um momento. Flory entendia claramente aquele “tudo é prestígio”. Estava acostumado a esses conflitos nebulosos, em que a suspeita conta mais do que as provas e a reputação vale mais do que mil testemunhas. Um pensamento lhe ocorreu, um pensamento desconfortável, assustador, que três semanas antes nunca lhe teria passado pela cabeça. Era um desses momentos em que a pessoa enxerga com clareza qual é o seu dever, e, mesmo com toda a vontade do mundo de fugir a ele, tem a certeza de que precisa ir adiante. Ele disse: “Vamos imaginar, por exemplo, que o senhor fosse admitido no Clube. Isso faria bem ao seu prestígio?” “Se eu fosse admitido no Clube? Ah, claro, sem dúvida! O Clube! É uma fortaleza inexpugnável. Se eu entrasse lá, ninguém iria dar ouvidos a essas histórias a meu respeito, como se eu fosse o senhor, o senhor Macgregor ou qualquer outro cavalheiro europeu. Mas que esperança tenho eu de ser admitido por eles, depois que tiveram o espírito envenenado contra mim?” “Ora, calma, doutor, vou lhe dizer qual é a minha idéia. Vou propor o seu nome na próxima assembléia geral. Sei que a questão vai ter de ser abordada nesse momento, e se alguém aparecer com o nome de um candidato, acho que ninguém além de Ellis vai querer lhe dar uma bola preta. Enquanto isso...” “Ah, meu amigo, meu querido amigo!” A emoção do médico quase o fez engasgar-se. Ele pegou a mão de Flory. “Ah, meu amigo, que gesto nobre! Realmente nobre! Mas é demais. Tenho medo de que isso faça o senhor voltar a ter problemas com os seus amigos europeus. O senhor Ellis, por exemplo. Será que ele vai tolerar que o senhor proponha o meu nome?” “Ora, Ellis que se dane. Mas o senhor precisa compreender que eu não posso lhe prometer que será admitido. Depende do que Macgregor disser, e da disposição em que estiverem os demais. Pode ser que não dê em nada.” O médico ainda segurava a mão de Flory entre as suas, que eram gorduchas e estavam úmidas. Lágrimas tinham começado a brotar de seus olhos, e eles, ampliados pelas lentes dos óculos, cintilavam e fitavam Flory como os olhos aquosos de um cão. “Ah, meu amigo! Se pelo menos eu fosse admitido! Seria o fim dos meus problemas! Mas, meu amigo, como eu disse antes, não se precipite. Cuidado com U Po Kyin! A essa altura, ele já terá incluído o senhor entre seus inimigos. E mesmo para o senhor a inimizade dele pode ser um perigo.” “Ora, santo Deus, a mim ele não tem como atingir. Ele ainda não fez nada até agora; só despachou umas cartas anônimas muito tolas.” “Eu não teria tanta certeza. Ele às vezes ataca de maneira sutil. E não há dúvida de que vai mover céus e terras para impedir que eu seja aceito no Clube. Se o senhor
tiver um ponto fraco, é melhor se proteger, meu amigo. Porque ele vai descobrir. Ele sempre ataca no ponto mais fraco.” “Como o crocodilo”, sugeriu Flory. “Como o crocodilo”, concordou o médico em tom grave. “Ah, meu amigo, como será gratificante para mim se eu for aceito como membro do seu Clube Europeu! Que honra ser um associado entre cavalheiros europeus! Mas existe uma questão, senhor Flory, que eu não mencionei antes. É que — e espero que o senhor entenda bem — eu não tenho nenhuma intenção de usar o Clube de maneira alguma. Ser membro é tudo que eu desejo. Mesmo que eu fosse aceito, jamais me prevaleceria disso para freqüentar o Clube.” “Não iria ao Clube?” “Não, não! Deus me livre impor a minha companhia aos cavalheiros europeus! Eu me limitaria a pagar as mensalidades. O que, para mim, já seria privilégio suficiente. O senhor entende, não é?” “Perfeitamente, doutor, perfeitamente.” Flory não conseguia evitar de rir enquanto subia a colina. Agora estava definitivamente comprometido com a proposta de candidatura do médico. E, quando os outros soubessem, haveria um enorme tumulto — ah, um tumulto e tanto! Mas o mais espantoso era que ele agora só achava graça. A idéia, que lhe teria provocado verdadeiro pânico um mês antes, agora o deixava quase eufórico. Por quê? E por que ele empenhara a sua palavra? Era coisa pouca, um risco pequeno a correr — nada de heróico — mas ainda assim não era o tipo de coisa que ele costumasse fazer. Por quê, depois de todos aqueles anos — os anos circunspectos da vida de um pukka sahib —, quebrar todas as regras tão repentinamente? Ele sabia por quê. Era porque Elizabeth, ao entrar em sua vida, a tinha transformado e renovado a tal ponto que todos aqueles anos sujos e sofridos pareciam nem ter se passado. A presença dela mudara toda a esfera de seu espírito. Ela lhe trouxera de volta os ares da Inglaterra — da querida Inglaterra, onde a liberdade de pensamento existe e ninguém é condenado a dançar para sempre a danse du pukka sahib, para a edificação das raças inferiores. Onde está a vida que eu antes levava?, pensou. Pelo simples fato de existir, ela lhe tornara possível, ela lhe tornara até natural, agir de maneira decente. Onde está a vida que eu antes levava?, tornou a pensar enquanto atravessava o portão do jardim. Sentia-se feliz, feliz. Pois tinha percebido que os devotos dizem a verdade quando afirmam que a salvação existe e que a vida sempre pode recomeçar. Percorreu o caminho da entrada e teve a impressão de que sua casa, suas flores, seus criados, toda a vida que tão pouco tempo antes lhe parecia embebida em tédio e saudade, de alguma forma tinham se renovado, tornando-se de repente significativos, inesgotavelmente maravilhosos. Como tudo podia ser interessante, a partir do momento em que havia alguém com quem compartilhar! Como a pessoa podia amar aquele país, quando não vivia sozinha! Nero estava no caminho,
enfrentando o sol abrasador por alguns grãos de arroz que o mali deixara cair enquanto levava comida para as suas cabras. Flo deu-lhe um bote, bufando muito, e Nero saltou no ar com um bater de asas, pousando no ombro de Flory. Flory entrou em casa com o galinho ruivo nos braços, acariciando sua crista sedosa e as penas macias em forma de losango de seu dorso. Ele ainda nem tinha posto os pés na varanda quando percebeu que Ma Hla May estava em casa. Não foi necessário Ko S’la sair correndo de dentro da casa com uma expressão de mau agouro. Flory já sentira o aroma dela de sândalo, alho e óleo de coco, e o perfume de jasmim em seus cabelos. Deixou Nero pousado na balaustrada da varanda. “A mulher voltou”, disse Ko S’la. Flory ficara muito pálido. E quando empalidecia, sua marca de nascença se destacava e o deixava muitíssimo feio. Sentira nas entranhas como que o golpe de uma lâmina de gelo. Ma Hla May apareceu na entrada do quarto. Estava de cabeça baixa e olhava para ele por baixo das sobrancelhas erguidas. “Thakin”, disse numa voz abafada, meio abatida, meio urgente. “Vá embora!”, ordenou Flory em tom raivoso a Ko S’la, descarregando seu medo e sua raiva sobre o criado. “Thakin”, disse ela, “venha aqui até o quarto. Tenho uma coisa a lhe dizer.” Ele entrou no quarto atrás dela. Em uma semana — só uma semana se passara — a aparência da jovem degenerara extraordinariamente. Seus cabelos pareciam engordurados. Todos os seus cachinhos tinham desaparecido e ela usava um longyi de Manchester de algodão florido, que custava duas rupias e oito annas. Cobrira o rosto com uma camada tão grossa de pó-de-arroz que parecia uma máscara de palhaço, e na raiz dos cabelos, onde o pó acabava, havia uma fita de pele na cor natural castanha. Parecia uma meretriz barata. Flory não a encarou, mas ficou de pé olhando com ar de desalento para a varanda pela porta aberta. “O que você quer, aparecendo aqui desta maneira? Por que não voltou para a sua aldeia?” “Estou ficando em Kyauktada, na casa da minha prima. Como posso voltar para a minha aldeia depois do que aconteceu?” “E que idéia foi essa de mandar homens me pedir dinheiro? Como é que você já pode querer mais dinheiro, quando eu lhe dei cem rupias só uma semana atrás?” “Como é que eu posso voltar?”, repetiu ela, ignorando as palavras dele. Sua voz se mostrava tão aguda que ele se virou. Ela estava de pé muito ereta, com ar triste, as sobrancelhas pretas unidas e os lábios formando um bico. “Por que você não pode voltar?” “Depois daquilo! Depois do que você me fez!” Bruscamente, ela prorrompeu num discurso furioso. Sua voz agora era o grito histérico e desgracioso das mulheres do bazar quando brigavam.
“Como é que eu posso voltar? Para que aqueles camponeses estúpidos e grosseiros que eu tanto desprezo riam de mim e me apontem o dedo? Eu, que já fui uma bokadaw, a mulher de um homem branco, voltar para a casa do meu pai e ficar sacudindo a cesta de arroz com casca ao lado das velhas arruinadas da aldeia e das mulheres feias demais para arranjar marido! Ah, que vergonha, que vergonha! Por dois anos eu fui a sua mulher, você me amou e cuidou de mim, e então, sem aviso, sem motivo, você me expulsa da sua casa como a um cão. E eu preciso voltar para a minha aldeia, sem dinheiro, todas as minhas jóias e todos os meus longyis de seda perdidos, e todo mundo vai apontar para mim e dizer: ‘Aquela é Ma Hla May, que achou que era mais esperta que todos nós aqui. E olhem só! O homem branco que ela arrumou fez com ela o que eles sempre fazem’. Estou acabada, acabada! Que homem vai querer se casar comigo depois de eu ter morado dois anos na sua casa? Você roubou a minha juventude. Ah, que vergonha, que vergonha!” Ele não conseguia olhar para ela; ficou ali numa postura desamparada, pálido, reduzido a nada. Cada palavra que ela dizia se justificava, e no entanto como dizer a ela que ele só poderia ter feito as coisas da maneira que fez? Como dizer a ela que teria sido um absurdo, um pecado, continuar sendo seu amante? Ele quase se encolheu para evitá-la, e a marca de nascença destacava-se em seu rosto amarelado como uma mancha de tinta. E disse em tom neutro, tocando instintivamente na questão do dinheiro — porque o dinheiro nunca falhava com Ma Hla May. “Posso lhe dar dinheiro. Posso lhe dar as cinqüenta rupias que você me pediu — e mais, depois. Só vou ter mais dinheiro no mês que vem.” E era verdade. As cem rupias que ele lhe dera, além do que ele gastara com as próprias roupas, tinham sido quase todo o dinheiro de que dispunha. Para seu desconcerto, ela prorrompeu num choro alto. Sua máscara branca se desfez e as lágrimas logo brotaram, escorrendo pelas faces. Antes que ele conseguisse detê-la, ela já caíra de joelhos à sua frente, e estava curvada, tocando o chão com a testa na reverência “total” de completa humilhação. “Levante, levante!”, exclamou ele. Aquela reverência vergonhosa e abjeta, com o pescoço curvado, o corpo dobrado como se convidasse a pancadas, sempre o horrorizava. “Não suporto isso. Levante agora mesmo.” Ela tornou a gemer alto e fez uma tentativa de agarrar os tornozelos dele. Flory deu um salto para trás. “Levante agora mesmo, e pare com esse barulho horrível. Não sei por que você está chorando.” Ela não se levantou, só se ergueu ainda ajoelhada e tornou a gemer alto para ele. “Por que você está me oferecendo dinheiro? Acha que foi só por dinheiro que eu voltei? Acha que, quando me expulsou da sua casa como se eu fosse um cão, foi só por causa do dinheiro que eu fiquei triste?” “Levante”, repetiu ele. Dera vários passos para longe, com medo de que ela o agarrasse. “O que você quer, então, se não é dinheiro?”
“Por que você me odeia?”, lamentou ela. “Que mal eu lhe fiz? Roubei a sua cigarreira, mas você não ficou com raiva disso. Você vai se casar com essa branca, eu sei, todo mundo sabe. Mas que diferença faz, por que precisa me mandar embora? Por que você me odeia?” “Eu não odeio você. Não sei explicar. Levante, por favor, levante.” Agora ela chorava abertamente. Afinal, era pouco mais que uma criança. Olhava para ele por entre as lágrimas, ansiosa, estudando o rosto de Flory à procura de algum sinal de compaixão. E então, uma coisa horrenda, ela se estendeu no chão ao comprido, com o rosto para baixo. “Levante, levante!”, exclamou ele em inglês. “Não agüento isso... é uma coisa abominável!” Ela não se levantou, mas foi se arrastando como um verme pelo chão, na direção dos pés dele. Seu corpo se estendia como uma fita no chão empoeirado. Ficou prostrada na frente dele, com o rosto oculto e os braços estendidos, como se diante do altar de um deus. “Meu senhor, meu senhor”, choramingou, “não vai me perdoar? Desta vez, só desta vez! Aceite Ma Hla May de volta. Vou ser sua escrava, menos que uma escrava. Qualquer coisa, só não me mande embora.” Ela prendera os tornozelos dele com os braços, e na verdade estava beijando os sapatos de Flory. Ele olhava para ela imóvel, sem saber o que fazer, com as mãos nos bolsos. Flo entrou no quarto, caminhou até onde Ma Hla May estava deitada e farejou o seu longyi. Abanou vagamente a cauda, reconhecendo o cheiro. Flory não agüentou. Curvou-se e pegou Ma Hla May pelos ombros, erguendo-a de joelhos. “Levante-se agora mesmo”, disse. “Eu me sinto mal de ver você assim. Vou fazer o que puder por você. Do que adianta chorar?” Na mesma hora ela exclamou, com a esperança renovada: “Então você vai me aceitar de volta? Oh, patrão, aceite Ma Hla May de volta! Ninguém precisa saber de nada. Vou ficar aqui e, quando a mulher branca aparecer, ela vai achar que sou a mulher de um dos criados. Não quer me aceitar de volta?”. “Não posso. É impossível”, disse ele, virando-se. Ela ouviu o tom definitivo de sua voz e emitiu um grito áspero e desagradável. Tornou a curvar-se numa reverência profunda, batendo com a testa no chão. Era horrível. E, mais horrível ainda, o que o feria no peito, era a absoluta falta de graciosidade, a baixeza das emoções por trás daqueles gestos. Porque em tudo aquilo não havia uma centelha sequer de amor por ele. Se ela chorava e se espojava, era só pela perda da posição que tivera como amante dele, da vida ociosa, das roupas ricas e do poder sobre os criados. Havia alguma coisa realmente deplorável em tudo aquilo. Se ela o amasse, ele poderia tê-la posto para fora com muito menos compunção. Não existem dores mais amargas do que aquelas a que falta qualquer vestígio de nobreza. Ele se inclinou e tomou-a nos braços.
“Escute, Ma Hla May, eu não a odeio, você não me fez mal algum. Fui eu que a enganei. Mas agora não adianta mais. Você precisa voltar para casa, mais tarde eu lhe mandarei dinheiro. Se você quiser, pode abrir uma loja no bazar. Você ainda é jovem. Nada disso vai fazer diferença quando você tiver dinheiro e puder arrumar um marido.” “Estou arruinada!”, ela voltou a se lamentar. “Vou me matar. Vou pular no rio do alto da ponte. Como posso continuar vivendo depois dessa desonra?” Ele a segurava nos braços e quase chegava a acariciá-la. Ela se agarrava com força a ele, o rosto escondido em sua camisa, o corpo sacudido por soluços. O aroma de sândalo penetrava nas narinas de Flory. Talvez mesmo agora ela achasse que, com os braços em volta dele e com o corpo assim colado em Flory, ela ainda tinha como recuperar o poder sobre ele. Mas ele desembaraçou-se mansamente dos braços dela e então, vendo que a jovem não tornava a cair de joelhos, afastou-se. “Já chega. Agora você precisa ir embora. E olhe, pode deixar que eu vou lhe dar as cinqüenta rupias que prometi.” Ele puxou a arca de metal que guardava debaixo da cama e tirou de lá cinco notas de dez rupias. Ela as guardou sem nada dizer no seio de seu ingyi. As lágrimas haviam parado de correr de uma hora para outra. Em silêncio, ela foi até o banheiro e voltou um minuto depois com o rosto lavado exibindo seu tom escuro natural, e com os cabelos e o vestido arrumados. Tinha um ar triste, mas não mais histérico. “Pela última vez, thakin: não vai me aceitar de volta? É a sua última palavra?” “É. Não posso fazer nada.” “Então eu vou embora, thakin.” “Muito bem. Vá com Deus.” Encostado no pilar de madeira da varanda, ele a observou descendo pelo caminho debaixo do sol forte. Ela caminhava muito ereta, com uma amarga expressão de ofensa na postura das costas e da cabeça. Era verdade o que ela dissera, ele lhe roubara a juventude. Seus joelhos tremiam incontrolavelmente. Ko S’la apareceu atrás dele, silencioso. Tossiu de leve para atrair a atenção de Flory. “O que foi agora?” “O café-da-manhã do ser sagrado está esfriando.” “Não quero tomar café-da-manhã. Quero que me traga alguma coisa para beber — gim.” Onde está a vida que eu antes levava?
*
14. Como grandes agulhas curvas às voltas com um bordado, as duas canoas que conduziam Flory e Elizabeth abriam caminho nas águas do riacho que levava para o interior a partir da margem oriental do Irrawaddy. Era o dia da expedição de caça — uma expedição curta de uma tarde, porque não poderiam passar a noite juntos na floresta. Pretendiam caçar por umas duas horas no relativo frescor vespertino e retornar a Kyauktada a tempo do jantar. As canoas, cada uma das quais fora escavada de um tronco único de árvore, deslizavam suavemente, mal produzindo alguma alteração na superfície das águas escuras. Nenúfares com uma profusa folhagem esponjosa e flores azuis cobriam todo o curso d’água, de maneira que o canal era apenas uma tira em curvas com pouco mais de um metro de largura. A luz filtrava-se, esverdeada, pela galharia entrelaçada. Às vezes ouviam-se gritos de papagaios no alto das árvores, mas nenhuma criatura selvagem se mostrou, exceto uma serpente que passou nadando apressada por eles e desapareceu em meio às plantas aquáticas. “Quanto tempo falta para chegarmos à aldeia?”, perguntou Elizabeth a Flory. Ele seguia numa canoa maior atrás da dela, junto com Flo e Ko S’la, conduzidos por uma remadora velha e enrugada vestida em farrapos. “Quanto falta, vovó?”, perguntou Flory à condutora da canoa. A velha tirou o charuto da boca e pousou o remo nos joelhos para pensar. “A distância de um grito de homem”, respondeu depois de refletir. “Menos de um quilômetro”, traduziu Flory. Já haviam percorrido cerca de três quilômetros. As costas de Elizabeth doíam. Aquelas canoas pareciam prestes a virar ao menor movimento descuidado, e era necessário ficar sentado em posição perfeitamente ereta no banco estreito sem encosto, mantendo os pés o mais possível fora de contato com as águas recolhidas que balançavam no fundo da canoa cheias de camarões mortos. O birmanês que remava a canoa de Elizabeth tinha uns sessenta anos, estava seminu e era escuro como uma folha seca, com o corpo perfeito de um jovem. Seu rosto era enrugado, gentil e bem-humorado. Sua nuvem de cabelos negros, mais finos que o da maioria dos birmaneses, estava presa de maneira descuidada acima de uma das orelhas, com uma ou duas mechas soltas por sobre a face. Elizabeth trazia a arma do tio no colo. Flory se oferecera para transportá-la; na realidade, porém, a sensação do peso da arma a deixava tão encantada que ela não conseguiu convencer-se a entregá-la. Nunca antes carregara uma arma nas mãos. Usava uma saia grossa, com sapatos de couro de amarrar e uma camisa de seda de corte masculino, e sabia que com seu chapéu terai aquele traje lhe assentava bem. Estava muito feliz, apesar da dor nas costas, do suor quente que lhe ardia no rosto e dos mosquitos imensos e tigrados que zumbiam em torno de seus tornozelos. O leito do rio se estreitou, e as extensões de nenúfares deram lugar a íngremes
barrancas de terra molhada e reluzente que lembrava chocolate. Choupanas precárias de teto de palha se erguiam acima das águas, apoiadas em palafitas cravadas no fundo do rio. Havia um menino nu de pé entre duas cabanas, fazendo um besouro voar preso à ponta de um pedaço de linha, como se fosse uma pipa. Ele berrou ao ver os europeus, o que fez com que mais crianças aparecessem de lugar nenhum. O velho guia birmanês conduziu a canoa para o ancoradouro feito com um único tronco de palmeira caído na lama — coberto de cracas e portanto podendo ser pisado com relativa segurança —, em seguida pulou da canoa e ajudou Elizabeth a desembarcar. Os outros seguiram carregando as sacolas e a munição, e Flo, como sempre fazia nessas ocasiões, atirou-se na lama e enterrou-se até o peito. Um velho senhor vestindo um paso magenta, com uma verruga no rosto da qual brotavam quatro fios de cabelo grisalho de quase um metro, adiantou-se com uma reverência, acariciando a cabeça das crianças que se tinham reunido perto do cais. “O chefe da aldeia”, disse Flory. O velhou abriu caminho até a sua casa, andando à frente dos demais com um extraordinário passo acocorado que lembrava a letra L invertida — resultado da combinação de reumatismo com as reverências constantes exigidas de um pequeno funcionário público. Um bando de crianças andava a passo acelerado atrás dos europeus, e cada vez mais cães, todos latindo fino e fazendo Flo encolher-se junto às canelas de Flory. À porta de entrada de cada cabana, aglomerados de rostos rústicos em forma de lua arregalavam-se diante da “Ingaleikma”. A aldeia estava na penumbra, à sombra das folhas largas. Nas chuvas, o rio inchava e transformava as partes mais baixas da aldeia numa empobrecida e desajeitada Veneza, onde os aldeões precisavam sair de casa de canoa. A casa do velho chefe era um pouco maior que as demais e tinha um telhado de ferro corrugado que, apesar do barulho intolerável que produzia durante as chuvas, era o orgulho da vida do ancião. Ele deixara de encomendar a construção de um pagode, e assim reduzira de modo considerável suas chances de atingir o nirvana, para poder pagar aquele telhado. Acelerou os passos e chutou gentilmente as costelas de um jovem que dormia na varanda. Em seguida, virou-se e fez uma nova reverência para os europeus, convidando-os a entrar. “Vamos entrar?”, perguntou Flory. “Acho que teremos de esperar mais ou menos meia hora.” “Será que o senhor não pode pedir que ele traga umas cadeiras para a varanda?”, perguntou Elizabeth. Depois da experiência na casa de Li Yeik, ela se prometera nunca mais entrar na casa de um nativo, se pudesse evitá-lo. Houve um rebuliço dentro da casa, e o chefe, o jovem e algumas mulheres apareceram arrastando duas cadeiras decoradas de maneira extraordinária com hibiscos vermelhos e begônias plantadas em latas de querosene. Era evidente que tinham preparado uma espécie de trono duplo para os europeus. Quando Elizabeth se sentou, o velho chefe da aldeia reapareceu com um bule de chá, um cacho de
bananas muito compridas de um verde bem claro e seis charutos negros. Mas quando ele lhe serviu uma xícara de chá, Elizabeth fez que não com a cabeça, pois o chá lhe pareceu ainda pior, se é que era possível, do que o servido por Li Yeik. O velho fez um ar desconcertado e esfregou o nariz. Virou-se para Flory e perguntou-lhe se a jovem thakin-ma gostaria de leite no chá. Ouvira dizer que os europeus tomavam chá com leite. Os aldeões podiam, se fosse o caso, ir ordenhar uma vaca. Ainda assim Elizabeth recusou o chá; mas estava com sede e pediu a Flory que mandasse buscar uma das garrafas de soda que Ko S’la trouxera em sua sacola. Ao ver isso, o velho retirou-se, sentindo-se culpado por seus preparativos insuficientes, e deixou os europeus sozinhos na varanda. “Daqui a quanto tempo poderemos começar? O senhor acha que trouxemos munição bastante? Quantos batedores vamos levar? Ah, espero que tenhamos sorte! O senhor acredita que vamos pegar alguma coisa, não acredita?” “Nada de muito especial, provavelmente. Devemos pegar alguns pombos e talvez alguma ave maior da floresta. Não é a melhor estação para caça, mas sempre podemos atirar nos machos. Dizem que há um leopardo aqui por perto, e que matou um boi bem perto da aldeia na semana passada.” “Ah, um leopardo! Seria ótimo se pudéssemos pegá-lo!” “Infelizmente, é pouco provável. A única regra quando se sai para caçar na Birmânia é não contar com nada. A experiência é quase sempre decepcionante. As florestas estão cheias de caça, mas na maioria das vezes não se tem a oportunidade de disparar a arma.” “Por quê?” “Porque a floresta é muito fechada. Um animal pode estar a cinco metros de distância, mas totalmente invisível, e quase sempre consegue se afastar dos batedores. Mesmo quando conseguimos ver algum deles, é só por um instante. E, novamente, há água para todos os lados, de maneira que os animais não precisam se dirigir a um determinado local para beber. Um tigre, por exemplo, pode vagar por centenas de quilômetros, se quiser. E, com toda a caça disponível na floresta, eles nunca precisam voltar para uma presa já morta, se desconfiarem de alguma coisa. Quando eu era jovem, passei noite após noite sentado perto de vacas que fediam horrivelmente, esperando por tigres que nunca vieram.” Elizabeth balançou os ombros contra a cadeira. Era um movimento que fazia às vezes quando estava muito satisfeita. Ela adorava Flory, adorava de verdade, quando ele falava daquele modo. A informação mais trivial sobre a caça a deixava muito animada. Se pelo menos ele sempre falasse de caçadas, em vez de ficar com aquelas conversas sobre os livros, a arte e toda aquela poesia repugnante! Num súbito impulso de admiração, ela decidiu que Flory era, na verdade, um belo homem, a seu modo. Tinha um ar esplendidamente másculo, com sua camisa de tecido de pagri aberta no colarinho, as calças curtas, as meias três-quartos e as botas de caça! E seu
rosto, marcado, queimado de sol como o de um soldado. Ele estava de pé com a marca de nascença oculta para ela. E ela pediu que ele falasse mais. “Conte mais sobre a caça ao tigre. É tão interessante!” Ele descreveu a caçada, anos antes, de um velho tigre devorador de gente que matara um de seus coolies. A espera no machan infestado de mosquitos; os olhos do tigre que chegava como lanternas verdes através da selva escura e fechada; o barulho arquejante e repulsivo enquanto ele devorava o corpo do coolie, atado a uma estaca fincada no chão. Flory contou a história toda em um tom bastante corriqueiro — afinal, o proverbial anglo-indiano maçante não estava sempre falando da caça ao tigre? —, mas Elizabeth balançou delicadamente os ombros mais uma vez. Ele não percebia o quanto aquele tipo de conversa era reconfortante para ela, e compensava todas as vezes em que ele a entediava e incomodava. Seis jovens de cabelos desgrenhados apareceram descendo o caminho, carregando dahs nos ombros, conduzidos por um velho seco, mas muito ativo, de cabelos grisalhos. Pararam à porta da casa do chefe da aldeia, um deles emitiu um grito rouco, ao que o ancião apareceu e explicou que aqueles eram os batedores. Estavam prontos para partir, se a jovem thakin-ma não estivesse achando o calor forte demais. Saíram andando. O lado da aldeia oposto ao rio era protegido por uma cerca de cactos com dois metros de altura e quase quatro de espessura. Primeiro era preciso passar por um caminho estreito em meio aos cactos, depois por uma trilha empoeirada e muito batida, fundamente marcada pelas rodas dos carros de bois, cercada de bambus da altura de mastros de bandeira que cresciam em densos magotes dos dois lados do caminho. Os batedores marchavam depressa à frente em fila indiana, cada um com seu dah de lâmina larga apoiado no antebraço. O velho caçador caminhava logo à frente de Elizabeth. Seu longyi sacudia solto como uma tanga precária e suas coxas magras exibiam tatuagens de escuros desenhos azuis, tão complexos que se tinha a impressão de que ele usava calças de renda azul-escura. Um bambu da espessura de um pulso humano tinha caído atravessado no caminho. O batedor que ia à frente cortou-o com um único golpe de baixo para cima do seu dah; a água aprisionada no bambu jorrou com uma refulgência de diamante. Depois de pouco menos de um quilômetro, chegaram a campo aberto, e todos suavam, porque tinham caminhado depressa e o sol brilhava com selvageria. “É lá que vamos caçar, ali adiante”, disse Flory. Apontou para o outro lado de uma capoeira, para uma planície em tons de terra, separada em lotes de uns cinco a dez mil metros quadrados por divisas de lama. Era uma área toda plana e sem vida, a não ser pelas garças branquíssimas. Ao final, uma floresta de árvores altas se erguia abruptamente, como um escuro desfiladeiro verde. Os batedores tinham seguido até uma árvore de pequeno porte, semelhante a um arbusto de azevinho, uns vinte metros adiante. Um deles estava de joelhos, fazendo uma reverência à árvore e murmurando alguma coisa, enquanto o velho caçador vertia no chão o conteúdo de uma garrafa que continha um líquido turvo. Os outros
os rodeavam, com uma expressão séria e entediada no rosto, como homens numa igreja. “O que eles estão fazendo?”, perguntou Elizabeth. “Algum sacrifício para as divindades locais. Os nats, como eles dizem. Uma espécie de dríades. Estão pedindo que nos tragam boa sorte.” O caçador voltou e numa voz estridente explicou que iam bater uma pequena macega à direita, antes de seguirem para a floresta propriamente dita. Ao que parecia, um conselho do nat. O caçador disse a Flory e Elizabeth onde deviam postar-se, apontando com seu dah. Os seis batedores entraram na capoeira; iam dar a volta e retornar batendo a mata na direção dos campos de arroz. Havia algumas moitas de roseira-brava a uns trinta metros da beira da mata, e Flory e Elizabeth se esconderam atrás de uma delas, enquanto Ko S’la se acocorava atrás de outra moita a uma certa distância, segurando a coleira de Flo e acariciando a cadela para mantêla em silêncio. Flory sempre mandava Ko S’la um pouco para longe quando caçava, pois o birmanês tinha o costume irritante de estalar a língua sempre que o patrão errava um tiro. De repente, um som ecoou ao longe — um som de batidas e de gritos estranhamente cavos; os batedores tinham começado a levantar a caça. Na mesma hora, Elizabeth começou a tremer de maneira tão incontrolável que não conseguia manter o cano da arma assestado. Uma ave magnífica, um pouco maior que uma perdiz, com as asas cinzentas e o corpo de um escarlate brilhante, deixou as árvores e veio na direção deles em um vôo baixo. As batidas e os gritos foram ficando mais próximos. Uma das moitas perto da beira da floresta sacudiu com violência — algum animal maior ia emergir. Elizabeth levantou a arma e tentou firmá-la. Mas era só um batedor amarelo e nu, de dah na mão. Ele viu que tinha saído do outro lado da capoeira e gritou para que os outros se juntassem a ele. Elizabeth baixou a arma. “O que houve?” “Nada. Acabaram de bater aquela área.” “Então não havia nada lá!”, exclamou ela, decepcionada. “Não se preocupe, nunca se consegue nada na primeira batida. Da próxima, a nossa sorte vai melhorar.” Atravessaram a macega, passando por cima das divisas de lama que separavam os campos, e assumiram posição do outro lado da alta muralha verde da floresta. Elizabeth já tinha aprendido a recarregar sua arma. Dessa vez a batida mal tinha começado quando Ko S’la deu um assobio agudo. “Atenção!”, exclamou Flory. “Depressa, estão vindo!” Uma revoada de pombos verdes vinha na direção deles a uma velocidade incrível, a cerca de quarenta metros de altitude. Pareciam um punhado de pedras atravessando o céu lançadas por uma catapulta. Elizabeth perdeu toda a capacidade de reagir devido à excitação. Primeiro ela não conseguiu se mover, depois apontou o cano para o ar, mais ou menos na direção das aves, e puxou o gatilho com toda a força. E
nada aconteceu — ela havia puxado a guarda do gatilho. Mas na hora em que as aves passavam exatamente por cima de sua cabeça ela encontrou os gatilhos e puxou os dois ao mesmo tempo. Ouviu-se um estrondo ensurdecedor e ela foi arremessada pelo menos um passo para trás, quase fraturando a clavícula. Tinha disparado uns trinta metros atrás das aves. No mesmo instante, ela viu Flory virar-se e apontar a arma. Dois pombos, subitamente detidos em pleno vôo, rodopiaram e despencaram no chão como flechas. Ko S’la berrou, e ele e Flo saíram correndo atrás das aves. “Olhe ali!”, disse Flory, “é um pombo imperial. Vamos pegá-lo!” Uma ave grande e corpulenta, com um vôo muito mais lento que as demais, batia as asas acima deles. Elizabeth nem se deu ao trabalho de disparar depois do seu fracasso anterior. Ficou vendo Flory enfiar um cartucho na culatra e levantar a arma, e a pluma branca de fumaça ergueu-se da ponta do cano. A ave desceu planando, com a asa partida. Flo e Ko S’la apareceram correndo, excitados, Flo com o imenso pombo imperial na boca e Ko S’la sorrindo e apresentando dois pombos verdes tirados de sua sacola de kachin. Flory pegou um dos pequenos corpos verdes mortos para mostrar a Elizabeth. “Olhe só. Não são lindos? O pássaro mais bonito da Ásia.” Elizabeth encostou a ponta do dedo em suas plumas macias. Aquilo a deixava muito enciumada, porque não fora ela quem tinha atingido os animais. No entanto era curioso, mas ela sentia quase uma adoração por Flory, agora que tinha visto que ele sabia atirar. “Olhe só a plumagem do peito; parecem jóias. É um crime atirar nesses bichinhos. Os birmaneses dizem que quando você mata um desses pássaros eles vomitam, querendo dizer: ‘Olhe, isto é tudo que eu possuo, e não tomei nada de seu. Por que você me mata?’. Mas admito que nunca vi isso acontecer.” “São bons para comer?” “Muito. Ainda assim, sempre achei uma pena matá-los.” “Quem me dera saber atirar como o senhor!”, disse ela com inveja na voz. “É só uma habilidade, logo você vai pegar o jeito. Você sabe segurar a arma, e isso já é mais do que a maioria das pessoas sabe quando começam.” No entanto, nas duas batidas seguintes, Elizabeth não conseguiu acertar em nada. Aprendera a não disparar mais os dois canos de uma vez, mas ficava paralisada de tanto nervosismo e não conseguia fazer pontaria. Flory abateu vários pombos mais, e uma pequena pomba de asa bronzeada com o dorso verde como azinhavre. As aves da floresta eram astuciosas demais para se mostrarem, embora fosse possível ouvilas cantando o tempo todo, de vez em quando o grito mais alto e trombeteado de um macho. Agora estavam se aprofundando na floresta. A luz era acinzentada, com manchas cegantes de luz do sol. Para qualquer lado que se olhasse, a vista esbarrava nas inumeráveis fileiras de árvores, na folhagem emaranhada e nas inúmeras trepadeiras que se enredavam entre os troncos, como o mar revolto em torno dos pilares de um píer. Era tão densa, a floresta, como uma moita cerrada se estendendo
por quilômetros e quilômetros, que oprimia os olhos de quem a observava. Alguns dos cipós eram imensos e pareciam enormes serpentes. Flory e Elizabeth se espremiam por picadas estreitas, subindo barrancos escorregadios, com espinhos agarrando-se em suas roupas. Os dois tinham a camisa ensopada de suor. O calor era sufocante, com um aroma de folhas esmagadas. Às vezes por vários minutos a fio, cigarras invisíveis sustentavam um zumbido agudo e metálico que lembrava o som de um violão de cordas de metal, e então, ao pararem, provocavam um silêncio surpreendente. Enquanto caminhavam na direção da quinta batida, chegaram a uma imensa figueira-dos-pagodes em que, bem no alto, podia-se ouvir o canto de pombos imperiais. Um som que lembrava o mugido distante de vacas. Uma das aves levantou vôo e empoleirou-se sozinha no galho mais alto da árvore, uma pequena forma acinzentada. “Tente atirar sentada”, disse Flory a Elizabeth. “Faça pontaria e puxe o gatilho sem esperar. Não feche o olho esquerdo.” Elizabeth ergueu a arma, que começara a tremer como sempre. Os batedores pararam todos ao mesmo tempo para ver, e alguns não conseguiram deixar de estalar a língua; achavam estranho e até chocante ver uma mulher usando uma arma. Fazendo um violento esforço para se controlar, Elizabeth conseguiu manter a arma parada por um segundo, e puxou o gatilho. Não ouviu o tiro; a pessoa nunca ouve, quando o tiro é certeiro. A ave deu a impressão de pular para trás do galho, depois veio caindo, batendo em toda a ramagem da árvore, e ficou presa numa forquilha a uns dez metros de altura. Um dos batedores pousou seu dah e avaliou a altura da árvore; em seguida, caminhou até um cipó imenso, da grossura da coxa de um homem e todo retorcido, que pendia de um galho. Subiu o cipó correndo por ele, com a mesma facilidade como se fosse uma escada, caminhou ereto em cima do galho largo e trouxe o pombo para o solo. Entregou o animal inerte e quente nas mãos de Elizabeth. Ela mal conseguia se afastar daquele corpo, cuja sensação a deixava extasiada. Poderia tê-lo beijado, apertado o animalzinho contra o seio. Todos os homens, Flory, Ko S’la e os batedores, trocavam sorrisos ao vê-la acariciar a avezinha morta. Com relutância ela a entregou a Ko S’la para que a guardasse na sacola. Estava consciente de um desejo extraordinário de atirar os braços em volta do pescoço de Flory e beijálo; e de algum modo era a morte do pombo que a fazia sentir-se assim. Depois da quinta batida, o caçador explicou a Flory que precisavam cruzar uma clareira usada para o plantio de abacaxis, e que em seguida bateriam outro trecho de selva mais adiante. Saíram ao sol, ofuscante depois da sombra da floresta. A clareira tinha a forma oblonga e mais ou menos uns cinco ou dez mil metros quadrados roubados à floresta, como uma área aparada no meio da relva alta, com os abacaxis, plantas espinhosas que lembravam cactos, crescendo em fileiras, quase sufocados
por ervas. Uma sebe baixa de espinheiros dividia a plantação ao meio. E tinham quase atravessado a plantação quando ouviram um canto alto de galo do outro lado da sebe. “Ah, escute!”, disse Elizabeth, detendo-se. “Era um galo da floresta?” “Era. Esta é a hora do dia em que eles saem atrás de comida.” “Não podemos atirar nele?” “Podemos tentar, se você quiser. Porém eles são muito astuciosos. Olhe, vamos caminhar abaixados ao longo da sebe até chegarmos bem em frente ao lugar onde ele está. Mas precisamos avançar em silêncio absoluto.” Ele mandou que Ko S’la e os batedores se afastassem, e os dois seguiram pela beira da plantação de abacaxi, ladeando a sebe que a dividia ao meio. Precisavam andar muito curvados para se manterem invisíveis. Elizabeth seguia na frente. O suor lhe corria pelo rosto, fazendo cócegas em seu lábio superior, e seu coração batia com violência. Ela sentiu a mão de Flory encostar em seu tornozelo por trás. Os dois se ergueram e olharam juntos por cima da sebe. A dez metros deles, um galinho do tamanho de um frango bicava vigorosamente o chão. Era lindo, com suas longas plumas sedosas do pescoço, sua crista protuberante e a cauda em arco, de um verde cor de louro. Havia seis fêmeas com ele, aves menores e castanhas, com penas em forma de losangos, lembrando escamas de serpente, no dorso. Tudo isso Flory e Elizabeth viram no espaço de um segundo, e logo, com um grito e um vigoroso bater de asas, as aves levantaram vôo e zarparam como balas na direção da floresta. Instantaneamente, automaticamente, ao que lhe pareceu, Elizabeth ergueu a arma e disparou. Foi um desses tiros sem tempo para fazer pontaria, sem consciência da arma que o atirador tem nas mãos, quando o espírito do caçador parece partir junto com o chumbo disparado e conduzi-lo para o alvo. Ela sabia que a ave estava condenada a morrer antes mesmo de puxar o gatilho. E o macho caiu, espalhando as penas, a uns trinta metros deles. “Belo tiro, belo tiro!”, exclamou Flory. Em seu entusiasmo, os dois deixaram cair suas armas, romperam a sebe de espinheiro e saíram correndo lado a lado até o lugar onde a ave tinha caído. “Belo tiro!”, repetiu Flory, tão animado quanto ela. “Meu Deus, nunca vi ninguém acertar uma ave em pleno vôo no primeiro dia, nunca! Você disparou a sua arma como um raio! Foi maravilhoso!” Estavam ajoelhados um em frente ao outro, com a ave morta entre os dois. Com um choque descobriram que suas mãos, a direita dele e a esquerda dela, estavam entrelaçadas com força. Tinham corrido para lá de mãos dadas sem se dar conta. Uma calma súbita caiu sobre os dois, a sensação de que algo momentoso estava para acontecer. Flory estendeu sua outra mão e tomou a outra dela. E ela veio se entregando, por vontade própria. Por um momento ficaram ajoelhados com as mãos unidas. O sol ardia sobre os dois e o calor emanava de seus corpos; pareciam flutuar sobre nuvens de ardor e alegria. Ele a pegou pela parte superior dos braços a fim de
puxá-la para si. E então, bruscamente, virou o rosto e se levantou, puxando Elizabeth e a pondo de pé. E soltou os braços dela. Lembrara-se de sua marca de nascença. Não se atrevia a ir em frente. Não ali. Não à luz do dia! A rejeição que poderia ocorrer seria terrível demais. Para encobrir o desconforto daquele momento, ele se inclinou e levantou do chão o galo da floresta. “Foi esplêndido”, disse. “Você não precisa que lhe ensinem nada. Já sabe atirar perfeitamente. Melhor seguirmos para a próxima batida.” Tinham acabado de atravessar a sebe de volta para pegar suas armas quando ouviram uma série de gritos vindos da beira da floresta. Dois dos batedores corriam na direção deles aos saltos, acenando freneticamente com os braços. “O que foi?”, perguntou Elizabeth. “Não sei. Devem ter visto algum animal. Alguma coisa boa, pelo jeito deles.” “Ah, ótimo! Vamos!” Saíram correndo e atravessaram o campo o mais rápido possível, pisando nos abacaxis e nas folhas cheias de espinhos. Ko S’la e cinco batedores estavam reunidos, de pé, todos falando ao mesmo tempo, e os outros dois acenavam excitados para Flory e Elizabeth. Quando se aproximaram, viram no meio do grupo uma velha que, com uma das mãos, exibia seu longyi rasgado e gesticulava com um charuto comprido na outra. Elizabeth ouviu uma palavra que soava como char, repetida várias vezes. “O que eles estão dizendo?”, perguntou ela. Todos os batedores se reuniram em torno de Flory, falando ansiosos e apontando para a floresta. Ao final de algumas perguntas ele fez um gesto para silenciá-los e virou-se para Elizabeth. “Realmente, estamos com sorte! Esta senhora estava passando pela floresta e disse que, ao som do tiro que você acabou de dar, viu um leopardo atravessar correndo o caminho. Esses sujeitos sabem onde ele pode ter ido se esconder. Se andarmos depressa, talvez possamos cercá-lo antes que ele escape, e fazê-lo sair do esconderijo. Vamos tentar?” “Ah, claro que sim! Que maravilha! Que beleza, que beleza se conseguirmos pegar um leopardo!” “Você entende que é perigoso? Vamos nos manter bem próximos um do outro e não deverá haver problema, mas nunca há total segurança quando se está a pé. Você está disposta a isso?” “Ah, claro, claro que sim! Não estou com medo. Ah, vamos logo atrás dele!” “Um de vocês venha conosco e mostre o caminho”, disse ele aos batedores. “Ko S’la, prenda Flo na correia e vá com os outros. Ela nunca vai ficar quieta se seguir conosco. Precisamos andar depressa”, disse a Elizabeth. Ko S’la e os batedores partiram em passo acelerado, margeando a floresta. Mais
adiante eles penetrariam na mata e começariam a bater. O outro batedor, o mesmo jovem que havia subido na árvore para pegar o pombo, mergulhou em seguida na selva, tendo Flory e Elizabeth logo atrás de si. Com passos rápidos e curtos, quase correndo, ele os conduziu por um labirinto de picadas. A folhagem crescia tão perto do chão que às vezes eles precisavam quase engatinhar, e cipós se atravessavam no caminho como arames presos a minas para dispará-las. O terreno era macio e silencioso. Num certo ponto da floresta, o batedor se deteve, apontou para o chão como sinal de que ali era um bom lugar e pôs o dedo à frente dos lábios para pedir silêncio. Flory tirou quatro cartuchos de chumbo grosso dos bolsos e pegou a arma de Elizabeth para carregá-la em silêncio. Ouviram um leve farfalhar de folhas atrás deles, e todos se puseram em movimento. Um jovem quase nu com uma espécie de besta nas mãos feita de bambu surgiu em meio à folhagem, vindo sabe Deus de onde. Olhou para o batedor, balançou a cabeça e apontou para o caminho. Seguiu-se um diálogo de sinais entre os dois jovens, ao fim do qual o batedor pareceu concordar. Sem nada dizer, os quatro avançaram uns quarenta metros, fizeram uma curva e tornaram a parar. No mesmo momento, um pandemônio tremendo de gritos, pontuado pelos latidos de Flo, irrompeu a algumas centenas de metros dali. Elizabeth sentiu a mão do batedor em seu ombro, empurrando-a para baixo. Os quatro se agacharam atrás de uma moita de espinhos, os europeus na frente, os birmaneses atrás. Ao longe, era tamanho o vozerio e o estrépito das lâminas dos dahs contra os troncos que era difícil acreditar que seis homens conseguissem fazer tanto barulho. Os batedores faziam o possível para que o leopardo não se virasse na direção deles. Elizabeth viu formigas grandes de um amarelo-claro marchando como soldados em formação pelos espinhos da moita. Uma caiu em sua mão e começou a subir-lhe pelo antebraço. Ela não se atrevia a se mover para tentar espantá-la. E rezava em silêncio: “Por favor, meu Deus, faça o leopardo sair logo! Oh, por favor, meu Deus, faça o leopardo vir para este lado!”. Então ouviram um brusco pisotear de folhas. Elizabeth ergueu a arma, mas Flory sacudiu a cabeça vigorosamente e empurrou o cano para baixo. Uma ave silvestre atravessou a vereda com passos apressados e ruidosos. Os berros dos batedores pareciam não conseguir chegar mais perto, e na área da floresta onde se encontrava o grupo de Flory o silêncio era como um manto estendido. A formiga no braço de Elizabeth mordeu-a dolorosamente antes de cair no chão. Um desespero começara a se formar no coração dela; o leopardo não viria mais, tinha escapado dos perseguidores em algum lugar, fugira para sempre. Ela quase desejou nunca ter ouvido falar daquele leopardo, a decepção era uma agonia. Então ela sentiu o batedor beliscar-lhe o cotovelo. Ele estava adiantando o rosto para a frente, a face lisa de um amarelo opaco a poucos centímetros apenas do rosto de Elizabeth; dava para sentir o cheiro de óleo de coco no cabelo dele. Os lábios grossos formavam um bico, como que para assobiar; ele escutara alguma coisa. E
Flory e Elizabeth também ouviram, um leve sussurro, como se alguma criatura dos ares esvoaçasse através da floresta, quase roçando o solo com os pés. No mesmo instante, a cabeça e os ombros do leopardo emergiram da folhagem, a cerca de quinze metros deles. O animal parou, com as patas dianteiras na trilha. Eles viam claramente sua cabeça baixa, as orelhas coladas ao crânio, os caninos expostos e suas fortíssimas e terríveis patas dianteiras. Na sombra, dava a impressão de ser não amarelo, mas cinzento. E ouvia com toda a atenção. Elizabeth viu Flory pôr-se de pé num salto, erguer a arma e no mesmo instante puxar o gatilho. O tiro produziu um estrondo, e quase simultaneamente ouviram um som alto de galhos partidos, enquanto a fera caía em meio à folhagem. “Cuidado!”, gritou Flory, “ele ainda não está acabado!” Tornou a atirar, e ouviram um novo baque quando o disparo atingiu o alvo. O leopardo arquejou. Flory abriu sua arma e apalpou os bolsos em busca de um cartucho, depois jogou todos no chão e caiu de joelhos, procurando entre eles. “Maldição!”, exclamou. “Nem um único de chumbo grosso. Onde diabos eu enfiei esses cartuchos?” O leopardo, ao cair, tinha desaparecido. Arrastava-se em meio à folhagem como uma grande serpente ferida, e gemendo com um som que ficava entre um rosnado e um soluço, selvagem e pungente. O som parecia aproximar-se. Cada cartucho que Flory pegava tinha os números 6 ou 8 gravados na ponta. Os cartuchos de chumbo mais grosso haviam, de fato, ficado com Ko S’la. Os estalidos e os rugidos agora estavam, se tanto, a cinco metros de distância, mas eles não conseguiam ver nada, tão densa era a selva. Os dois birmaneses gritavam “Atire! Atire! Atire!”. O som de “Atire! Atire!” começou a vir de mais longe — eles corriam em busca de árvores mais próximas em que pudessem subir. Ouviu-se um fragor em meio à folhagem, tão próximo que sacudiu a moita junto à qual Elizabeth estava. “Pelo amor de Deus, ele está quase em cima de nós!”, disse Flory. “Precisamos fazê-lo virar-se de alguma forma. Atire para o alto!” Elizabeth levantou a arma. Seus joelhos batiam como castanholas, mas a mão estava firme como pedra. Disparou rapidamente, uma, duas vezes. O barulho recuou. O leopardo se arrastava para longe deles, ferido porém sempre rápido, e ainda invisível. “Muito bem! Você conseguiu afugentar o bicho!”, disse Flory. “Mas ele está fugindo! Está fugindo!”, exclamou Elizabeth, dançando no lugar de tanto nervosismo. Fez menção de seguir o animal. Flory pôs-se de pé de um salto e a puxou de volta. “Não se preocupe! Fique aqui. Espere!” Enfiou dois dos cartuchos de chumbo mais fino na arma e saiu correndo em direção ao som do leopardo. Por um momento, Elizabeth não conseguiu ver nem a
fera nem o homem, e em seguida os dois reapareceram num trecho de clareira a uns trinta metros de onde ela estava. O leopardo se arrastava de barriga, soluçando à medida que avançava. Flory apontou a arma e disparou de uma distância de menos de quatro metros. O leopardo saltou como um travesseiro jogado longe, depois rolou, enrodilhou-se todo e ficou imóvel. Flory cutucou o corpo com o cano da arma. Ele não se moveu. “Tudo bem, agora ele está morto”, gritou ele. “Venham ver de perto.” Os dois birmaneses saltaram da árvore, e eles e Elizabeth correram para onde Flory estava. O leopardo — um macho — jazia enrodilhado no chão com a cabeça entre as patas dianteiras. Parecia muito menor agora do que quando vivo; tinha um ar patético e lembrava um gato doméstico morto. Os joelhos de Elizabeth ainda tremiam. Ela e Flory ficaram olhando para o leopardo, próximos um do outro, mas desta vez sem entrelaçar as mãos. Num instante, Ko S’la e os outros apareceram, gritando de triunfo. Flo farejou o leopardo morto uma vez, depois enfiou o rabo entre as pernas e se afastou por uns cinqüenta metros, choramingando. Nada a convencia a se aproximar de novo da fera. Todos se acocoraram em torno do leopardo e ficaram olhando para ele. Acariciaram sua linda barriga branca, macia como a de uma lebre, apertaram os dedos largos de suas patas para forçar a saída de suas garras e puxaram para trás seus lábios negros a fim de examinar as presas. Em seguida, dois batedores cortaram um bambu alto e amarraram o leopardo nele pelas patas, com a longa cauda arrastando-se pelo chão, e encetaram a marcha triunfal de volta à aldeia. Ninguém falou em continuar caçando, embora o dia ainda estivesse claro. Estavam todos, inclusive os europeus, ansiosos demais para voltar para casa e para se gabar de sua façanha. Flory e Elizabeth caminhavam lado a lado pela capoeira. Os outros marchavam trinta passos à frente, com as armas e o leopardo, e Flo arrastava-se atrás de todos, muito longe, na rabeira do grupo. O sol começava a se pôr atrás do Irrawaddy. A luz distribuía-se horizontal por sobre os campos e atingia o rosto dos dois com raios suaves e amarelados. O ombro de Elizabeth quase encostava no de Flory enquanto andavam. O suor que ensopara suas camisas tinha secado. Não falavam muito. Estavam felizes, com aquela felicidade incomum que vem da exaustão e do sucesso, e com a qual nada mais na vida — nenhuma outra satisfação, seja do corpo ou do espírito — chega sequer a se comparar. “A pele do leopardo é sua”, disse Flory quando se aproximaram da aldeia. “Ah, mas foi você quem o matou!” “Ainda assim, a pele é sua. Por Deus, eu me pergunto quantas mulheres neste país teriam conseguido manter a cabeça no lugar como você! Imagino todas gritando e caindo desmaiadas. Vou mandar curtir a pele para você na cadeia de Kyauktada. Um dos prisioneiros sabe curtir peles, e as deixa macias como veludo. Está cumprindo pena de sete anos, de maneira que teve tempo de aprender o ofício.” “Então está bem, muitíssimo obrigada.”
E nada mais disseram um ao outro depois disso. Mais tarde, depois que se tivessem lavado e removido todo o suor e a sujeira, depois que comessem e descansassem, haveriam de tornar a se encontrar no Clube. Não marcaram nenhum encontro, mas estava entendido entre eles que iriam se encontrar. E também ficou entendido que Flory pediria Elizabeth em casamento, embora tampouco nada tenha sido dito sobre isso. Na aldeia, Flory pagou oito annas a cada batedor, supervisionou o esfolamento do leopardo e deu ao chefe uma garrafa de cerveja e dois pombos imperiais. A pele e o crânio do leopardo foram acomodados numa das canoas. Todos os bigodes tinham sido roubados, a despeito dos esforços que Ko S’la fizera para guardá-los. Alguns jovens da aldeia saíram carregando a carcaça da fera, dispostos a comer seu coração e vários outros órgãos cujo consumo, pelo que acreditavam, haveria de torná-los fortes e ágeis como o animal.
*
15. Quando Flory chegou ao Clube, encontrou os Lackersteen numa disposição especialmente sombria. A sra. Lackersteen estava sentada, como sempre, no melhor lugar debaixo do punkah, lendo a Lista Civil, um verdadeiro “Quem é Quem” da Birmânia. Estava mal-humorada com o marido, que a desafiara ao pedir um “grande” assim que ela chegou ao Clube e continuava desafiando-a ao folhear a Pink’un. Elizabeth estava sozinha na pequena e abarrotada biblioteca, olhando as páginas de um número antigo da Blackwood’s. Depois que se despedira de Flory, Elizabeth tivera um incidente muito desagradável. Tinha saído do banho e estava se vestindo para o jantar quando seu tio entrou de repente no quarto — a pretexto de saber mais sobre a caçada do dia — e começou a beliscar sua perna de uma maneira que simplesmente não deixava nenhuma margem para dúvida. Elizabeth ficou horrorizada. Foi a primeira vez que soube que existiam homens capazes de assediar as próprias sobrinhas. Vivendo e aprendendo. O sr. Lackersteen tentara dar à coisa um tom de piada, mas era um homem desajeitado e estava quase bêbado demais para conseguir isso. A sorte é que sua mulher estava fora de alcance, ou teria sido um escândalo de primeira linha. Depois disso, o jantar fora constrangedor. O sr. Lackersteen estava contrariado. Que maldição isso de as mulheres se acharem com muitos direitos e quererem resistir à diversão dos outros! A moça era bonitinha, bem que lhe lembrava algumas ilustrações da Vie Parisienne e... ora bolas! Não era ele quem estava pagando casa e comida para ela? Aquilo era um absurdo. Mas para Elizabeth a situação ficara muito desconfortável. Ela não tinha um tostão, e o único lar de que dispunha era a casa do tio. Viajara mais de doze mil quilômetros para vir morar com ele. Seria um horror se, passados apenas quinze dias, a casa do tio se tornasse inabitável para ela. Em conseqüência disso, uma coisa se estabeleceu em seu espírito com muito mais firmeza do que antes: se Flory a pedisse em casamento (e era certo que ele pediria, não podia haver muita dúvida), ela responderia que sim. Em outro momento, é possível que tomasse outra decisão. Naquela tarde, entusiasmada com aquela aventura gloriosa, emocionante e totalmente “adorável”, ela quase chegara a se apaixonar por Flory; na verdade, chegara o mais perto disso que, no caso particular dele, era capaz de chegar. No entanto, mesmo depois daqueles acontecimentos, é provável que suas dúvidas tivessem retornado. Porque sempre tivera sentimentos um tanto dúbios quanto a Flory; afinal, a idade dele, sua marca de nascença, aquela maneira estranha e perversa de falar — aquelas conversas “intelectuais” ao mesmo tempo ininteligíveis e inquietantes. Houve dias em que ela chegara mesmo a desgostar dele. Mas agora o comportamento de seu tio fizera a balança pender com toda a clareza. Qualquer que fosse o caso, ela precisava deixar a casa do tio, e depressa. Sim, ela sem dúvida aceitaria se casar com Flory quando ele lhe fizesse o pedido!
E ele leu a resposta no rosto dela assim que entrou na biblioteca. Ela exibia uma expressão mais gentil, mais dócil, como ele jamais vira. Trajava o mesmo vestido lilás que vestia na manhã em que se conheceram, e a visão daquele vestido conhecido deu-lhe coragem. Parecia trazê-la para mais perto dele, afastando a estranheza e a elegância que às vezes o deixavam nervoso. Ele pegou a revista que ela estivera lendo e fez uma observação; por algum tempo, tiveram o tipo de conversa banal que tão raramente conseguiam evitar. É estranho como o hábito da parolagem vazia acaba persistindo em quase todos os momentos. No entanto, enquanto conversavam, perceberam que tinham saído caminhando na direção da porta e depois para fora, e em seguida para baixo do grande jasmineiro que se erguia ao lado da quadra de tênis. Era noite de lua cheia. Fulgurando como uma moeda aquecida ao branco, tão brilhante que chegava a ferir os olhos, a lua subia flutuando rápida num céu de azul enfumaçado, através do qual vagavam alguns farrapos de nuvem amarelada. As estrelas estavam todas invisíveis. As moitas de crótons, à luz do dia plantas muito feias parecidas com loureiros atacados de icterícia, eram transformadas pela luz da lua em padrões de ziguezague em preto e branco que lembravam xilogravuras fantásticas. Junto à cerca do terreno, dois coolies dravidianos caminhavam pela estrada, transfigurados, seus farrapos brancos cintilando ao luar. Pelo ar morno, o perfume emanado pelo jasmineiro flutuava como alguma mistura intragável fornecida por uma máquina de venda automática. “Olhe a lua, olhe só para ela!”, disse Flory. “Parece um sol branco. A noite está mais clara que um dia de inverno na Inglaterra.” Elizabeth ergueu os olhos para os galhos do jasmineiro, que a lua parecia ter transformado em bastões de prata. O luar se espalhava denso, quase palpável, sobre tudo, revestindo a terra e a casca áspera das árvores como algum sal cintilante, e cada folha dava a impressão de acumular uma carga de luz sólida, como ocorre quando neva. Mesmo Elizabeth, de ordinário indiferente a esse tipo de coisa, estava admirada. “Que maravilha! Nunca se vê um luar assim na Inglaterra. É tão... tão...” Como nenhum adjetivo além de “claro” se lhe apresentou, ela se calou. Tinha o hábito de deixar as frases inacabadas, como Rosa Dartle, embora por motivos muito diferentes. “Pois é, em lugar nenhum a lua brilha como aqui. E como é forte o cheiro desta árvore, não acha? Uma coisa impressionante, tropical. Detesto essas árvores que passam o ano todo em flor, não concorda?” Ele falava de maneira um tanto distraída, para passar o tempo até que os coolies desaparecessem. Assim que eles sumiram, Flory passou o braço pelo ombro de Elizabeth, e então, quando ela não o repeliu e nem disse nada, virou-a e puxou seu corpo para junto de si. A cabeça dela ficava na altura do peito dele, e os cabelos curtos da jovem roçavam seus lábios. Ele segurou o queixo dela com a mão e ergueu o rosto de Elizabeth para que ficasse de frente para o seu. Ela estava sem óculos.
“Você não se incomoda?” “Não.” “Quero dizer, não se incomoda com a minha... com esta minha coisa?” Virou ligeiramente a cabeça de lado para indicar a marca de nascença. Não poderia beijá-la sem antes lhe fazer a pergunta. “Não, não. Claro que não.” Um momento depois que suas bocas se encontraram, ele sentiu os braços nus dela pousarem com suavidade em torno de seu pescoço. Ficaram ali muito juntos, encostados no tronco do jasmineiro, corpo a corpo, boca com boca, por um minuto ou mais. O perfume enjoativo da árvore misturava-se ao aroma dos cabelos de Elizabeth. E esse aroma produzia em Flory uma sensação de ridículo, de distância de Elizabeth, muito embora ele a tivesse nos braços. Tudo que aquela árvore exótica simbolizava para ele — seu exílio, os anos solitários e desperdiçados — era como um golfo intransponível entre os dois. Como é que algum dia ele conseguiria fazê-la compreender o que esperava dela? Desvencilhou-se e pressionou com suavidade os ombros de Elizabeth contra a árvore, olhando para seu rosto, que enxergava com toda a clareza embora a lua estivesse por trás dela. “Nem preciso lhe dizer o que você significa para mim”, disse ele. “‘O que você significa para mim’! Essas expressões gastas! Você não sabe, você não tem como saber, o quanto eu a amo. Mas preciso tentar lhe dizer. Será que devemos voltar para dentro do Clube? Podem nos procurar. Podemos conversar na varanda.” “O meu cabelo está muito desalinhado?”, perguntou ela. “Está lindo.” “Mas ficou desalinhado? Arrume para mim, por favor.” Ela inclinou a cabeça para ele, e ele arrumou seus cachos curtos e frescos com a mão. A maneira como ela inclinara a cabeça transmitira a ele uma curiosa sensação de intimidade, muito mais íntima que o beijo, como se já fossem casados. Ah, ela tinha de ser sua, disso não havia dúvida! Só se casando com ela sua vida poderia ser resgatada. Dali a um momento faria o pedido. Caminharam lentamente por entre as moitas de cróton, de volta ao Clube, com seu braço ainda em volta do ombro dela. “Podemos conversar na varanda”, repetiu ele. “Por qualquer razão, nunca conversamos de verdade, você e eu. Meu Deus, esses anos todos, como eu senti falta de alguém com quem conversar! E com você eu sei que poderia conversar infindável, interminavelmente! Sei que parece tedioso. Eu me preocupo que possa ser tedioso. Mas queria lhe pedir que seja tolerante comigo por um certo tempo.” Ela reagiu com um som de protesto à palavra “tedioso”. “Não, eu sei que é tedioso. Eu sei. Nós, os anglo-indianos, somos sempre considerados maçantes. E somos mesmo. Mas é mais forte do que nós. A questão é que existe um — como eu posso dizer? — demônio dentro de nós que nos impele a falar. Caminhamos de um lado para o outro carregando uma quantidade de
lembranças que ansiamos por compartilhar e que de alguma forma jamais conseguimos dividir com ninguém. É o preço que pagamos por termos vindo para este país.” Estavam razoavelmente a salvo de interrupções na varanda lateral, porque nenhuma porta se abria para ela. Elizabeth sentara-se com os braços apoiados na mesinha de vime, mas Flory continuava de pé, andando de um lado para o outro, com as mãos nos bolsos do paletó, às vezes entrando na faixa iluminada pelo luar que se infiltrava por baixo do beiral do lado leste da varanda, e depois voltando para a sombra. “Eu disse agora mesmo que a amava. O amor! A palavra está tão gasta que quase perdeu o sentido. Mas deixe eu tentar explicar. Hoje à tarde, quando estávamos caçando, eu pensei: meu Deus!, eis aqui finalmente alguém que pode compartilhar a minha vida, mas compartilhar de verdade, vivê-la de verdade junto comigo. Está vendo...” A idéia era pedir que se casasse com ele — de fato, tinha a intenção de pedi-la em casamento sem mais demora; em vez disso, porém, não conseguia parar de falar sobre si mesmo. Era algo incontrolável. Era muito importante que ela compreendesse parte do que tinha sido a vida dele naquele país; que tivesse consciência da natureza da solidão que ele esperava que a companhia dela pudesse anular. Mas essa explicação era de uma dificuldade diabólica. É diabólico o tormento de sofrer de uma dor cujo nome exato não se consegue aprender. Abençoados os que sofrem apenas de doenças classificáveis! Abençoados os pobres, os doentes, os traídos no amor, porque pelo menos os outros sabem qual é o seu problema e ouvirão compassivos o relato de suas dores. Mas que pessoa que nunca as tenha sofrido pode compreender as dores do exílio? Elizabeth o observava enquanto ele andava de um lado para o outro, entrando e saindo da poça de luar que prateava seu paletó de seda. O coração da jovem ainda batia forte por causa do beijo, e no entanto seus pensamentos vagavam enquanto ele falava. Será que nunca iria pedi-la em casamento? Estava demorando tanto! Ela percebia vagamente que ele lhe dizia alguma coisa sobre a solidão. Ah, claro! estava falando da solidão que ela precisaria enfrentar na selva, quando estivessem casados. Mas ele não precisava se preocupar. Talvez a pessoa se sentisse muito só na floresta às vezes. A quilômetros de qualquer lugar, sem cinemas, sem dança, sem ninguém para conversar além do outro, nada para fazer à noite além de ler — muito aborrecido mesmo. Ainda assim, sempre se podia comprar um gramofone. Que diferença, quando os novos rádios portáteis chegassem à Birmânia! Era o que ela estava a ponto de dizer quando ele acrescentou: “Será que você me entendeu bem? Será que formou uma idéia da vida que levamos aqui? A estranheza, a solidão, a melancolia! Árvores e flores desconhecidas, paisagens desconhecidas, rostos desconhecidos. Tudo tão exótico como num outro planeta. Mas quero que você entenda — e é isto que eu mais quero
que você entenda — que viver num outro planeta até pode ser razoável, e pode ser inclusive a coisa mais interessante que se pode imaginar, se você tiver pelo menos uma pessoa com quem compartilhar tudo. Uma pessoa que possa ver as coisas com olhos às vezes parecidos com os seus. Este país tem sido uma espécie de inferno solitário para mim — como para a maioria de nós aqui —, mas ainda assim posso lhe dizer que poderia se tornar um paraíso, não fosse pela solidão. Está achando essas palavras sem sentido?” Ele parou ao lado da mesa e tomou a mão da jovem. Na semi-obscuridade, só conseguia ver o seu rosto como um oval mais claro, como uma flor, mas pela sensação da mão de Elizabeth ele logo percebeu que ela não entendera nada do que ele tinha dito. E como, afinal, poderia entender? Era tão fútil toda aquela conversa cheia de rodeios! Ele devia ter-lhe perguntado de saída: Quer se casar comigo? Não teriam toda uma vida pela frente para conversar, depois disso? Ele pegou a outra mão da jovem e a ergueu suavemente. “Perdoe-me por todas essas bobagens que fiquei falando.” “Está tudo bem”, murmurou ela um pouco confusa, julgando que ele estivesse a ponto de beijá-la. “Não, é uma besteira ficar falando desse modo. Existem coisas que podem ser ditas com palavras e outras não. Além disso, foi um abuso ficar falando tanto só sobre mim mesmo. Mas é que eu estava tentando chegar a um determinado ponto. Escute, eis o que eu queria lhe dizer. Você quer...” “E-liz-a-beth!” Era a voz aguda e queixosa da sra. Lackersteen, chamando de dentro do Clube. “Elizabeth! Onde você está, Elizabeth?” O som da voz deixava claro que a sra. Lackersteen já estava perto da porta e iria surgir na varanda a qualquer momento. Flory puxou Elizabeth para perto de si. Beijaram-se às pressas. Ele a soltou, retendo apenas as mãos da jovem nas suas. “Depressa, quase não temos mais tempo. Só me responda uma coisa. Você quer...” Mas a frase jamais conseguiu passar desse ponto. Nesse mesmo instante, uma coisa extraordinária acontecia debaixo de seus pés: o assoalho ondulava e oscilava como o mar e ele balançou e depois caiu, zonzo, sofrendo uma forte pancada no alto do braço quando o soalho ergueu-se com força e foi se chocar contra seu corpo. Enquanto ficou ali deitado, sentiu o corpo ser violentamente sacudido para a frente e para trás, como se algum enorme animal sobre o qual ele se encontrasse tivesse decidido começar a corcovear com todo o prédio do Clube nas costas. O enlouquecimento do piso sossegou de repente, e Flory ficou sentado no chão, atordoado mas não muito ferido. Percebeu vagamente Elizabeth estendida a seu lado e gritos vindos do interior do Clube. Para além do portão, dois birmaneses corriam ao luar, com os longos cabelos soltos. E berravam o mais alto que podiam: “Nga Yin está se sacudindo! Nga Yin está se sacudindo!”
Flory ficou olhando para eles sem entender. Quem seria Nga Yin? Nga era o prefixo atribuído aos criminosos. Nga Yin devia ser um dacoit. E por que estaria se sacudindo? Então ele se lembrou. Nga Yin era um gigante que os birmaneses acreditavam viver enterrado, como Tifeu, abaixo da crosta terrestre. Claro! Tinha sido um terremoto. “Um terremoto!”, exclamou, e então lembrou-se de Elizabeth e fez menção de levantá-la do chão. Mas ela já estava se sentando, incólume, esfregando a nuca. “Foi um terremoto?”, perguntou com uma voz espantada. A silhueta alta da sra. Lackersteen apareceu lentamente no canto da varanda, agarrando-se à parede como uma lagartixa muito comprida. Ela gritava, histérica: “Oh, meu Deus, um terremoto! Ah, que susto horrível! Não vou agüentar, o meu coração não suporta! Ah, meu Deus, meu Deus! Um terremoto!” O sr. Lackersteen apareceu oscilando atrás dela, com um estranho passo atáctico provocado em parte pelo abalo sísmico, em parte pelo gim. “Um terremoto, com mil demônios!”, disse ele. Flory e Elizabeth se levantaram devagar. Todos voltaram para dentro, com a estranha sensação que nos ataca na sola dos pés quando descemos em terra firme depois de algum tempo a bordo de um barco que jogava no mar. O velho mordomo veio correndo dos alojamentos dos criados, enfiando o pagri na cabeça enquanto andava, seguido por um batalhão de chokras. “Terremoto, foi um terremoto, senhor”, dizia ele em tom ansioso. “Eu sei muito bem que foi um terremoto, que diabo”, disse o sr. Lackersteen enquanto se instalava cuidadosamente numa cadeira. “Agora nos traga algumas bebidas, mordomo. Meu Deus, bem que eu preciso de alguma coisa depois disso.” E todos tomaram alguma coisa. O mordomo, retraído mas muito orgulhoso, apoiou-se numa das pernas ao lado da mesa, com a bandeja na mão. “Foi um terremoto, senhor, um terremoto dos grandes!”, repetia ele com entusiasmo. Estava rebentando de vontade de falar; como todo mundo, aliás. Uma extraordinária joie de vivre se abatera sobre todos assim que a sensação de tremor parou de ser registrada por suas pernas. Um terremoto é muito divertido depois que passa. Dá um novo ânimo pensar que não estamos, como poderia ser o caso, mortos debaixo de uma pilha de destroços. E em uníssono todos desataram a falar: “Meu Deus, nunca tomei um susto parecido — Eu caí de costas sem poder fazer nada — Parecia que um maldito cão sarnento estava se coçando debaixo do chão — Achei que fosse uma explosão em algum lugar...”, e assim por diante; a tagarelagem habitual sobre os terremotos. Até o mordomo foi incluído na conversa. “Acho que você deve ter passado por muitos terremotos, não é, mordomo?”, perguntou a sra. Lackersteen em tom muito gentil, considerando-se que era ela quem falava. “Ah, sim, madame, muitos terremotos! 1887, 1899, 1906, 1912... muitos, são muitos os terremotos de que eu me lembro!”
“O de 1912 foi bem forte”, disse Flory. “Ah, mas o de 1906 foi maior, senhor Flory! O choque foi tremendo! E um ídolo pagão imenso do templo caiu em cima do thathanabaing, quer dizer, do bispo budista, o que os birmaneses interpretaram como um mau sinal, indicando que ia faltar arroz e que ia haver uma epidemia de aftosa. E também em 1887, o primeiro terremoto de que eu me lembro, quando eu era um pequeno chokra, e o major Maclagan sahib se enfiou debaixo da mesa, prometendo assinar na manhã seguinte o compromisso de nunca mais beber. Ele não sabia que era um terremoto. E houve mais duas vacas que morreram esmagadas pelos telhados que caíram” etc. etc. Os europeus ficaram no Clube até meia-noite, e o mordomo entrou no salão pelo menos mais umas seis vezes para contar novas histórias. Em vez de o tratarem com desprezo, os europeus o encorajavam a falar. Nada como um terremoto para aproximar as pessoas. Mais um ou dois tremores, talvez, e teriam convidado o mordomo para lhes fazer companhia à mesa. Enquanto isso, o pedido de casamento de Flory não foi adiante. Não se pode fazer um pedido de casamento logo após um terremoto. De qualquer maneira, ele não ficou mais a sós com Elizabeth em nenhum momento daquela noite. Mas não importava, agora ele sabia que ela era sua. Pela manhã haveria tempo de sobra. Diante desse pensamento, com o espírito tranqüilo e exausto ao cabo de um longo dia, ele foi dormir.
*
16. Os abutres pousados nos grandes pés de pyinkado junto ao cemitério decolavam de seus galhos branqueados de esterco, estabilizavam as asas e ascendiam em grandes espirais para maiores altitudes. Era cedo, mas Flory já saíra de casa. Ia até o Clube, esperar que Elizabeth chegasse para então pedi-la formalmente em casamento. Algum instinto, que ele não entendia bem, impedira que ele o tivesse feito antes que os outros europeus voltassem da floresta. Quando saía pelo portão do jardim, viu que havia um recém-chegado a Kyauktada. Um jovem com uma longa lança que lembrava uma agulha numa das mãos trotava pelo maidan num cavalo branco. Alguns sikhs, que pela aparência deviam ser cipaios, corriam atrás dele, puxando mais dois cavalos pelas rédeas, um baio e um castanho. Quando chegou à altura de onde ele se encontrava, Flory parou de andar e gritou-lhe um bom-dia da estrada. Não reconhecera o jovem, mas em lugares pequenos o costume é sempre mostrar-se hospitaleiro para com desconhecidos. O outro viu que estava sendo chamado, virou o cavalo com um gesto descuidado e aproximou-se da beira da estrada. Era um jovem de uns vinte e cinco anos, magro mas muito ereto e, a julgar por todos os sinais, oficial de cavalaria. Tinha uma dessas caras de coelho muito comuns nos soldados ingleses, com olhos azuis muito claros e um pequeno triângulo formado pelos incisivos, visível entre os lábios; no entanto, era duro, destemido e até naturalmente rude — um coelho, talvez, mas um coelho ríspido e belicoso. Montava o cavalo como se fizesse parte dele e transmitia uma impressão ofensiva de vigor e juventude. Seu rosto estava bronzeado na medida exata para combinar bem com seus olhos muito claros, e tinha uma aparência elegante como uma pintura com seu topi branco de couro e suas botas de pólo que reluziam como um velho cachimbo de meerschaum. Desde o primeiro momento, Flory sentiu-se mal na presença dele. “Como vai?”, disse Flory. “Acabou de chegar?” “Ontem à noite, no último trem.” O oficial tinha uma voz mal-humorada e juvenil. “Mandaram-me para cá com uma companhia, para ficar estacionado caso os seus badmashes locais resolvam criar algum problema. Meu nome é Verrall — da Polícia Militar”, acrescentou, sem, por sua vez, perguntar o nome de Flory. “Ah, sim. Ouvimos dizer que iam mandar alguém. E onde você está alojado?” “Numa barraca provisória, por enquanto. Havia um miserável negro instalado lá quando cheguei, ontem à noite — um fiscal de impostos, ou coisa parecida. Mas o pus para fora. Este lugar aqui é um fim de mundo, não é?”, disse com um movimento para trás da cabeça, indicando toda Kyauktada. “Tanto como todos esses postos menores da região. O senhor vai ficar muito tempo?” “Só mais ou menos um mês, graças a Deus. Até o começo das chuvas. Que maidan horrível o daqui, não é? É um absurdo que não consigam cortar isto direito”,
acrescentou, correndo a ponta da lança pela relva ressecada. “Desse jeito fica impossível jogar pólo ou qualquer outra coisa.” “Aqui, infelizmente, não se joga pólo”, disse Flory. “Tênis é o máximo que conseguimos. Somos no total apenas oito, e a maioria ainda passa três quartos do tempo na floresta.” “Meu Deus! Que fim de mundo!” Depois disso, fez-se um silêncio. Os sikhs, altos e barbados, formavam um círculo em torno da cabeça dos cavalos, encarando Flory sem muita simpatia. Ficara perfeitamente claro que Verrall estava entediado com aquela conversa e queria logo deixá-la para trás. Flory jamais se sentira tão de trop em toda a sua vida, ou tão velho e mal-ajambrado. Percebeu que o cavalo de Verrall era um árabe magnífico, uma égua, com pescoço altaneiro e uma cauda plumosa e arqueada; um lindo animal da cor do leite que valia vários milhares de rupias. Verrall já puxara a rédea para se afastar, julgando, obviamente, que já conversara o suficiente por aquela manhã. “A sua montaria é maravilhosa”, disse Flory. “Não é má, bem melhor que esses cavalinhos daqui. Saí para treinar um pouco de tent-pegging com a lança. Nem adianta pensar em praticar com uma bola de pólo no meio desse lodo. Ei, Hira Singh!”, gritou e virou a égua para o outro lado. O cipaio que segurava o cavalo baio entregou a rédea a um companheiro, correu para um ponto a quase quarenta metros dali e enterrou um estreito alvo com uma argola no chão, simbolicamente um tent-peg, um espeque de prender barracas. Verrall não tomou mais conhecimento de Flory. Ergueu a lança e postou-se sobre a sela como se fizesse pontaria no alvo, enquanto os indianos recuavam, tiravam os cavalos do caminho e o observavam com ar crítico. Com um movimento quase imperceptível, Verrall cravou os joelhos nos flancos da égua, que disparou como um projétil arremessado por uma catapulta. Com a facilidade de um centauro, o jovem esguio e ereto inclinou-se de lado na sela, baixou a lança e a enterrou bem no meio do alvo. Um dos indianos murmurou com voz rouca: “Shabash!”. Verrall ergueu a lança atrás de si da maneira ortodoxa e então, contendo sua montaria e a forçando a um galope lento, deu a volta e entregou ao cipaio o alvo atravessado pela lança. Verrall fez duas novas investidas, e nas duas acertou o alvo. A manobra era executada com uma graça incomparável e com uma solenidade extraordinária. Todo aquele grupo de homens, tanto o inglês quanto os indianos, concentrava-se nas investidas contra o alvo como se aquilo fosse um ritual religioso. Flory continuava assistindo, sem que tomassem conhecimento de sua existência — o rosto de Verrall era daqueles especialmente fabricados para ignorar desconhecidos indesejados —, mas, pelo fato mesmo de ser ignorado é que se sentia incapaz de afastar-se dali. De algum modo, Verrall o deixara dominado por um sentimento horrível de inferioridade. Ele procurava algum pretexto para retomar a conversa quando olhou para o alto da colina e viu Elizabeth, vestida de azul-claro, saindo do portão da casa do tio. É provável que ela tivesse assistido à terceira investida do cavalariano contra
o alvo. O coração de Flory bateu dolorosamente. Uma idéia lhe passou pela cabeça, uma dessas idéias irrefletidas que tendem a provocar problemas. Chamou Verrall, que se encontrava a alguns metros dele, e apontou com a bengala para os cavalos. “Esses outros dois também sabem fazer a mesma coisa?” Verrall olhou por cima do ombro com uma expressão arrogante. A sua expectativa era que Flory tivesse ido embora depois de ter sido ignorado. “O quê?” “Esses outros dois cavalos também sabem fazer a mesma coisa?”, repetiu Flory. “O castanho não é de todo mau. Mas tende a disparar, se você não tomar cuidado.” “Então eu queria tentar acertar um alvo. Posso?” “Está bem”, disse Verrall, sem nenhuma cortesia. “Mas não vá machucar a boca do animal.” Um cipaio trouxe o cavalo e Flory fez de conta que examinava a corrente que prendia o freio. Na verdade, estava ganhando tempo até que Elizabeth chegasse a trinta, quarenta metros de onde ele estava. Decidiu atingir o alvo com a lança no momento exato em que ela estivesse passando (o que é bem fácil de fazer cavalgando um dos pequenos cavalos birmaneses, contanto que se consiga obrigar o animal a galopar em linha reta) e depois cavalgar na direção dela com o espeque preso à lança. Era obviamente a coisa certa a fazer. Ele não queria que ela pensasse que aquele jovem impertinente fosse a única pessoa dali que sabia montar bem. Ele estava de calças curtas, desconfortáveis para cavalgar, mas sabia que, como quase todo mundo, fazia muito boa figura no dorso de um cavalo. Elizabeth se aproximava. Flory subiu à sela, pegou a lança das mãos do indiano e fez um aceno com ela para Elizabeth. Ela, porém, não respondeu. É provável que se sentisse tímida na presença de Verrall. Ela estava com os olhos distantes, fixos no cemitério, e tinha as faces coradas. “Chalo”, disse Flory ao indiano, e então cravou os joelhos nos flancos do cavalo. No momento seguinte, antes que o cavalo tivesse dado dois saltos, Flory se viu voando em pleno ar, depois chocando-se com o chão com um baque que quase deslocou seu ombro, e rolando várias vezes sobre si mesmo. Felizmente a lança caiu longe dele. Ficou deitado de costas, com uma visão borrada do céu e de abutres que vagavam no alto. Em seguida seus olhos começaram a entrar em foco e reconheceram o pagri cáqui e o rosto escuro de um sikh inclinado sobre ele, a barba subindo até os olhos. “O que aconteceu?”, perguntou em inglês, erguendo-se dolorosamente para se apoiar no cotovelo. O sikh murmurou algo em resposta com voz rouca e apontou para longe. Flory viu o cavalo castanho galopando na distância pelo maidan, com a sela debaixo da barriga. A cilha não fora apertada e a sela tinha virado; daí a queda. Quando Flory conseguiu sentar-se no chão, percebeu que sentia muita dor. Sua camisa estava rasgada no ombro direito e já se empapava de sangue, e ele sentia que
mais sangue lhe escorria do rosto. O impacto contra a terra dura o deixara esfolado. Também perdera o chapéu. Com um choque doloroso, lembrou-se de Elizabeth e viu que ela vinha na direção dele, a menos de dez metros, olhando diretamente para ele, ali caído de forma tão ignominiosa. Meu Deus, meu Deus! pensou, ó meu Deus, devo estar parecendo um perfeito idiota! E essa idéia até suplantou a dor da queda. Cobriu a marca de nascença com uma das mãos, embora a face machucada fosse a outra. “Elizabeth! Olá, Elizabeth, bom dia!” Ele a chamara em tom ansioso, ávido de atenção, como é comum quando temos consciência de estarmos fazendo papel de idiotas. Ela não respondeu e, o mais incrível, passou direto por ele sem nem parar por um instante, como se não o tivesse visto nem escutado. “Elizabeth!”, ele tornou a chamar, desconcertado. “Você me viu cair? A sela se soltou. Aquele cipaio idiota não...” Não havia dúvida de que dessa vez ela o tinha escutado. Ela se virou para encarálo por um instante e atravessou-o com o olhar, como se Flory não existisse. Em seguida voltou o olhar para longe, para além do cemitério. Uma coisa terrível. Ele tornou a chamá-la, desesperado: “Elizabeth! Escute, Elizabeth!” Ela passou direto sem dizer nada, sem lhe fazer nenhum sinal, sem tornar a olhar para ele. Caminhava depressa estrada abaixo, batendo os calcanhares no chão, de costas para Flory. Os cipaios tinham-no cercado a essa altura, e Verrall também fora até onde estava caído. Alguns cipaios haviam cumprimentado Elizabeth; Verrall a tinha ignorado, e talvez nem tivesse chegado a vê-la. Flory levantou-se com dificuldade. Estava muito arranhado, mas não quebrara nenhum osso. Os indianos lhe trouxeram seu chapéu e sua bengala, porém não se desculparam pelo descuido. Exibiam um ligeiro ar de desprezo, como se pensassem que ele só sofrera o que merecia. Era concebível até que tivessem afrouxado a cilha de propósito. “A sela virou”, disse Flory com a voz fraca e estúpida que as pessoas assumem em momentos assim. “Mas por que diabos você não verificou a cilha antes de montar?”, perguntou Verrall secamente. “Você devia saber que esses desgraçados não merecem confiança.” E com essas palavras, virou a rédea e partiu, dando o incidente por encerrado. Os cipaios partiram atrás dele, sem se despedir de Flory. Quando este chegou ao portão de sua casa, olhou para trás e viu que o cavalo castanho tinha sido recapturado e reencilhado, e que Verrall continuava a fisgar os espeques com a lança, agora montado nele. A queda o deixara tão abalado que ainda não conseguira ordenar os pensamentos. O que teria feito Elizabeth comportar-se daquela maneira? Ela o vira caído no chão, coberto de sangue e sofrendo muitas dores, mas ainda assim seguira adiante como se
ele fosse um cachorro morto. O que estaria havendo? Será que aquilo tinha mesmo acontecido? Era inacreditável. Será que ela estaria com raiva dele? Será que ele a teria ofendido de alguma forma? Todos os criados o esperavam junto à cerca do terreno. Tinham saído para assistir aos exercícios de Verrall com a lança, e todos haviam acompanhado sua amarga humilhação. Ko S’la correu parte do caminho morro abaixo ao seu encontro, com expressão preocupada. “O deus se machucou? Devo carregá-lo para dentro de casa?” “Não”, respondeu o deus. “Vá me buscar a garrafa de uísque e uma camisa limpa.” Quando entraram de volta em casa, Ko S’la obrigou Flory a se sentar na cama e tirou-lhe a camisa rasgada, que o sangue colara em seu corpo. Ko S’la estalou a língua. “Ah ma lay! Esses cortes estão cheios de terra. O senhor não devia se meter nessas brincadeiras de criança com cavalos desconhecidos, thakin. Não na sua idade. É perigoso.” “A sela virou”, respondeu Flory. “Essas brincadeiras”, prosseguiu Ko S’la, “vão muito bem para o jovem oficial da polícia. Mas o senhor já não é mais tão moço, thakin. Uma queda, na sua idade, pode deixar a pessoa muito machucada. O senhor devia tomar mais cuidado.” “Está dizendo que eu sou um velho?”, perguntou Flory, irritado. Seu ombro doía terrivelmente. “O senhor tem trinta e cinco anos, thakin”, respondeu Ko S’la num tom educado mas firme. Era tudo muito humilhante. Ma Pu e Ma Yi, que viviam uma trégua temporária, trouxeram uma vasilha cheia de uma pasta horrenda que declararam ser muito boa para cortes na pele. Flory disse em particular a Ko S’la para jogar aquilo fora e trazer-lhe um ungüento de bórax. Depois, sentado na banheira enquanto Ko S’la removia com uma esponja a terra presa aos arranhões em sua pele, ele se perguntou, impotente, o que teria acontecido e, à medida que sua cabeça foi clareando, fez isso com um desânimo cada vez maior. Ele a ofendera profundamente, estava claro. Mas, se não tinha estado com ela desde a noite interior, como poderia tê-la ofendido? E não encontrava uma resposta minimamente plausível. Explicou várias vezes a Ko S’la que a queda se deveu à sela solta. Mas era evidente que Ko S’la, embora se apiedasse dele, não acreditava. Até o fim de seus dias, percebeu Flory, aquela queda seria atribuída ao fato de ser considerado um mau cavaleiro. Por outro lado, quinze dias antes, ele adquirira um renome imerecido por ter afugentado um búfalo inofensivo. O destino sempre acabava equilibrando as coisas, de certa forma.
*
17. Flory só voltou a ver Elizabeth quando foi ao Clube depois do jantar. Ao contrário do que poderia ter feito, ele não a procurou para pedir uma explicação. Seu próprio rosto o deixava inseguro cada vez que se olhava no espelho. Com a marca de nascença de um lado e o arranhão do outro, ficara tão melancólico, tão medonho que não ousava se mostrar à luz do dia. Quando entrou no salão do Clube, cobriu a marca de nascença com a mão — a pretexto de uma picada de mosquito na testa. Deixar de cobrir a marca de nascença num momento como aquele teria sido mais do que a sua coragem conseguia enfrentar. No entanto, Elizabeth não estava lá. Em vez disso, deparou-se com uma briga inesperada. Ellis e Westfield tinham acabado de retornar da floresta e estavam bebendo, de muito mau humor. Chegara de Rangoon a notícia de que o editor do Patriota Birmanês tinha recebido uma sentença de apenas quatro meses de prisão por suas calúnias contra o sr. Macgregor, e eles estavam cada vez mais indignados com aquela pena tão leve. Assim que Flory chegou, Ellis começou a provocá-lo com observações sobre “aquele seu negrinho, o Verossuíno”. Àquela altura, a mera idéia de uma discussão aborrecia Flory, mas ele respondeu de forma descuidada e seguiu-se uma discussão. Ela foi ficando acalorada, e mais adiante Ellis chamou Flory de Amiguinho dos Negros, e Flory lhe respondeu na mesma moeda. E Westfield também perdeu a cabeça. Era um sujeito bom por natureza, mas as idéias bolcheviques de Flory às vezes o incomodavam. Não conseguia entender por quê, quando existiam tão claramente uma opinião certa e outra errada sobre tudo, Flory sempre parecia sentir o maior prazer em escolher a idéia errada. Disse a Flory que era para ele “não começar a falar como um maldito agitador do Hyde Park” e em seguida lhe passou um sermão ríspido, recitando-lhe as cinco principais virtudes do pukka sahib, a saber:
Defender o nosso prestígio, Mão firme (sem luvas de pelica), Nós, os brancos, temos de nos unir, Se lhes dermos um dedo, logo vão querer o braço e Esprit de corps.
O tempo todo, a ansiedade para ver Elizabeth perturbava a tal ponto seu coração que Flory mal conseguia escutar o que lhe diziam. Além disso, já ouvira aquilo tudo tantas vezes, tantas e tantas vezes — cem ou talvez mil vezes, desde sua primeira semana em Rangoon, quando seu chefe ou burra sahib (um velho beberrão escocês, grande criador de cavalos de corrida afastado do turfe por alguma patifaria armada para fazer o mesmo cavalo correr com dois nomes diferentes) o viu tirar o topi à
passagem de um funeral nativo e lhe disse, em tom de reprimenda: “Nunca se esqueça de uma coisa, meu rapaz, nunca: nós somos o sahiblog e eles não são nada!”. Agora, ele se sentia mal por ter dado ouvidos àquela estupidez. De maneira que interrompeu secamente o que Westfield dizia para proferir uma blasfêmia: “Ora, cale a boca! Já estou cansado desse assunto. Veraswami é um ótimo sujeito — bem melhor que certos homens brancos que eu conheço. De qualquer maneira, estou pensando em propor o nome dele para sócio do Clube na próxima assembléia geral. Talvez, com ele, as coisas fiquem um pouco mais interessantes neste maldito lugar.” Ao que a briga se teria tornado séria se não tivesse terminado como acabavam quase todas as brigas do Clube — com a chegada do mordomo, que ouvira as vozes exaltadas. “O senhor me chamou?” “Não. Vá para o inferno”, respondeu Ellis em tom aborrecido. O mordomo se retirou, mas por algum tempo pôs fim à discussão. Naquele momento, ouviram-se passos e vozes do lado de fora; os Lackersteen estavam chegando ao Clube. Quando entraram no salão, Flory não conseguiu reunir a coragem necessária para olhar Elizabeth nos olhos; mas percebeu que os três estavam muito mais bem trajados do que de costume. O sr. Lackersteen chegara ao extremo de envergar um dinner jacket — branco, tendo em vista a estação do ano — e estava inteiramente sóbrio. A camisa de linho engomado e o colete de piquê pareciam conferir-lhe uma postura ereta e reforçar sua fibra moral como uma couraça metálica. A sra. Lackersteen estava bonita e serpentina num vestido vermelho. De alguma forma difícil de definir, os três davam a impressão de estarem à espera de algum convidado especial. Quando pediram suas bebidas e a sra. Lackersteen apoderou-se do lugar habitual debaixo do punkah, Flory puxou uma cadeira e instalou-se do outro lado do grupo. Ainda não se atrevia a abordar Elizabeth de forma direta. A sra. Lackersteen começara a falar de uma maneira extraordinária e especialmente desconexa sobre o querido príncipe de Gales, forçando um sotaque aristocrático, como uma dançarina de segunda linha temporariamente promovida ao papel de duquesa em alguma comédia musical. Os outros se perguntavam que diabo teria acontecido com ela. Flory postou-se quase atrás de Elizabeth. Ela estava com um vestido amarelo muito curto, como era a última moda, com meias cor de champanhe e sapatinhos combinando, e trazia um imenso leque de plumas de avestruz. Tinha um ar tão composto, tão adulto, que ele sentiu mais medo dela do que nunca. Não conseguia acreditar que tivesse chegado a beijá-la. Ela falava com grande fluência, dirigindo-se a todos os presentes ao mesmo tempo, e de tempos em tempos Flory se atrevia a dizer alguma coisa em meio à conversa geral; mas ela jamais lhe respondia diretamente, e se estava ou não disposta a ignorá-lo de fato, ele não tinha como
dizer. “Bem”, disse a sra. Lackersteen, “e quem me acompanha numa partidinha de bridge?” Seu sotaque ficava mais aristocrático a cada palavra que proferia, um fenômeno inexplicável. Tudo indicava que Ellis, Westfield e o sr. Lackersteen estavam dispostos a acompanhá-la numa “partidinha”. Flory recusou o convite assim que percebeu que Elizabeth não iria jogar. Era agora ou nunca, a sua oportunidade de ficar a sós com ela. Quando os demais se deslocaram para a sala de jogos, ele viu com uma mescla de medo e alívio que Elizabeth ficara para trás. Ele parou junto à porta, barrando a passagem dela. Estava mortalmente pálido. Ela encolheu-se um pouco, para evitar a proximidade com ele. “Desculpe”, disseram os dois ao mesmo tempo. “Um minuto”, pediu ele, e por mais que se esforçasse sua voz estava trêmula. “Posso conversar com você? Se não se importar... preciso lhe dizer uma coisa.” “O senhor quer me dar licença para eu passar, senhor Flory?” “Por favor! Por favor! Estamos a sós. Você não vai me deixar pelo menos falar?” “O que é, então?” “É só o seguinte. Não sei o que eu posso ter feito para ofendê-la, mas, por favor, diga-me o que foi. Diga-me e me dê uma oportunidade de reparar o mal que fiz. Eu prefiro perder uma das mãos a ofendê-la. Apenas me diga, não me deixe continuar sem saber o motivo.” “Não sei do que o senhor está falando. ‘O que o senhor fez para me ofender’? E por que o senhor teria me ofendido?” “Só pode ter sido isso! Da maneira como se comportou!” “‘Da maneira como eu me comportei’? Não sei do que o senhor está falando. Não sei mesmo por que está se comportando desta maneira fora do comum.” “Mas você nem falou comigo! Hoje de manhã nem tomou conhecimento da minha presença!” “Ora, eu posso fazer o que me parecer melhor, sem ter de prestar contas a ninguém!” “Mas por favor, por favor! Não está vendo? Você precisa ver o que representa para mim ser tratado dessa maneira de uma hora para outra. Afinal, ontem à noite mesmo você...” Ela corou. “Acho absolutamente... absolutamente ordinário da sua parte ter a ousadia de mencionar esse tipo de coisa!” “Eu sei, eu sei, eu sei disso. Mas o que mais posso fazer? Você passou direto por mim hoje de manhã, como se eu fosse uma pedra. Eu sei que devo tê-la ofendido de alguma forma. Pode me culpar por eu querer saber o que fiz?” Como sempre, ele estava piorando as coisas a cada palavra que dizia. Percebeu que, o que quer que tivesse feito, fazê-la falar sobre o caso parecia à jovem pior
ainda do que a coisa propriamente dita. Ela não tinha a menor intenção de explicar. Queria deixá-lo no escuro — ignorá-lo e depois fingir que nada acontecera; a manobra feminina habitual. Ainda assim, ele tornou a insistir: “Por favor, me conte. Não posso deixar que as coisas entre nós terminem dessa maneira.” “‘As coisas terminem entre nós?’ Mas nada começou entre nós”, disse ela com frieza. A vulgaridade dessa resposta o magoou, e ele respondeu: “Nem parece você, Elizabeth! Não é nada generoso ignorar um homem assim depois de ter sido gentil com ele, e ainda por cima recusar-se a sequer lhe dizer qual o motivo. Você precisa ser sincera comigo. Por favor, me diga o que eu fiz.” Ela lançou-lhe um olhar oblíquo e ressentido, ressentido não por causa do que ele fizera, mas por a estar obrigando a contar do que se tratava. Porém ela talvez já estivesse ansiosa para pôr fim àquela cena e disse: “Pois bem, já que o senhor me obriga a dizer...” “Sim?” “Contaram-me que, ao mesmo tempo que o senhor fazia de conta que... bem, que estava... comigo... ah, é horrível demais! Não consigo falar.” “Continue.” “Contaram-me que o senhor sustenta uma mulher birmanesa. E agora, por favor, vai me deixar passar?” Em seguida, ela enfunou velas — não há outras palavras para descrever seu comportamento — e passou por ele com o farfalhar de suas saias curtas, desaparecendo na sala de jogos. Ele ficou ali, vendo-a se afastar, arrasado demais para falar e com uma expressão indescritivelmente ridícula. Foi horrível. Ele não poderia mais encará-la depois daquilo. Virou-se para ir embora do Clube, sem nem se atrever a passar pela porta da sala de jogos, para não correr o risco de ser visto por ela. Voltou para o salão em busca de um caminho de fuga, e por fim pulou a balaustrada da varanda, indo cair no pequeno gramado quadrado que descia até a margem do Irrawaddy. O suor lhe escorria da testa. Sentiase tão furioso e frustrado que era capaz de gritar. Quanta falta de sorte! Ser descoberto logo numa coisa como aquela. “Sustentando uma mulher birmanesa” — o que nem era verdade! Mas de nada lhe adiantaria negar. Ah, que acaso maldito e maligno teria feito aquela notícia chegar aos ouvidos dela? Na verdade, porém, não tinha sido o acaso. Havia uma causa perfeitamente sólida, a mesma, aliás, do estranho comportamento da sra. Lackersteen no Clube aquela noite. Na véspera, pouco antes do terremoto, a sra. Lackersteen estivera lendo a Lista Civil. A Lista Civil (que mostra a renda exata de cada funcionário na Birmânia) era uma fonte de interesse inesgotável para ela. E estava em pleno processo de adicionar o salário e os benefícios de um Conservador de Florestas que certa vez conhecera em Mandalay quando lhe ocorreu consultar o nome do tenente Verrall, o qual, segundo
soubera pelo sr. Macgregor, estava prestes a chegar a Kyauktada no dia seguinte, no comando de cem policiais militares. Quando encontrou o nome, viu diante dela duas palavras que a deixaram quase fora de si de espanto. As palavras eram “the honourable” (usadas para designar membros da nobreza)! Tenentes de nascimento nobre são uma raridade em toda parte, raros como diamantes no Exército da Índia, raros como dodôs na Birmânia. Quando você é tia da única jovem casadoura num raio de quase cem quilômetros e ouve dizer que o Tenente Membro da Nobreza está chegando no dia seguinte...! Com grande desalento, a sra. Lackersteen lembrou que Elizabeth tinha ido ao jardim com Flory, aquele pobre-diabo beberrão que mal ganhava setecentas rupias por mês e ainda por cima, de acordo com todas as probabilidades, já devia estar pedindo a jovem em casamento! Na mesma hora ela se apressou em chamar Elizabeth para dentro, e nesse momento ocorreu o terremoto. Quando estavam a caminho de casa, porém, tiveram oportunidade de conversar. A sra. Lackersteen pousou a mão afetuosa no braço de Elizabeth e lhe disse, no tom mais amoroso que conseguiu produzir em toda a vida: “Claro que você sabe, minha querida, que Flory sustenta uma mulher birmanesa...” Por um instante, aquele petardo mortal deu a impressão de que não ia explodir. Elizabeth conhecia tão pouco os costumes da terra que a observação não lhe causou grande efeito. Soava pouco mais significativa do que “sustenta o papagaio que tem em casa”. “Sustenta uma mulher birmanesa? Mas para quê?” “Para quê? Ora, minha querida! Para que os homens sustentam as mulheres?” E, claro, não foi preciso dizer mais nada. Flory permaneceu um longo tempo de pé junto à margem do rio. A lua estava alta e se espelhava na água como um escudo largo de luz elétrica. O ar fresco da noite mudara o ânimo de Flory. Não sentia mais disposição de ficar com raiva. Porque percebera, com o implacável autoconhecimento e autodesprezo que sobrevêm às pessoas em momentos assim, que o que lhe acontecera fora perfeitamente merecido. Por um instante, teve a impressão de que um desfile interminável de mulheres birmanesas, um regimento de fantasmas, marchava à sua frente à luz da lua. Céus, como eram numerosas! Mil — mil não, mas pelo menos uma boa centena. “Olhar à direita!”, pensou com desânimo. E as cabeças viraram-se em sua direção, porém não tinham rosto, eram simples discos sem feições. Lembrava-se de um longyi azul aqui, de um par de brincos de rubi ali, mas de quase nenhum rosto ou nome. Os deuses são justos, e os nossos vícios do prazer (seria mesmo prazer?) acabam transformando-se em instrumentos que vêm nos assombrar. Ele se sujara além da possibilidade de redenção, e aquele era o seu castigo merecido. Saiu caminhando lentamente através das moitas de crótons, contornando a sede do
Clube. Estava triste demais para sentir toda a dor daquela calamidade. Como ocorre com todas as feridas profundas, a dor só iria começar muito mais tarde. Quando ele passava pelo portão, algo se moveu em meio à folhagem atrás dele. Levou um susto. E ouviu um murmúrio de ásperas sílabas birmanesas. “Paik-san pei-laik! Paik-san pei-laik!” Virou-se bruscamente. O “paik-san pei-laik” (“Quero o meu dinheiro”) foi repetido. Viu uma mulher de pé à sombra do flamboyant dourado. Era Ma Hla May. Ela avançou e foi iluminada pelo luar, furiosa e com expressão hostil, mantendo certa distância, como se tivesse medo de que ele batesse nela. Seu rosto estava coberto de pó-de-arroz e exibia um branco doentio à luz da lua, e parecia tão feio como uma caveira, além de desafiador. Ela o assustara. “Que diabos você está fazendo aqui?”, perguntou ele, irritado, em inglês. “Paik-san pei-laik!”, repetiu ela, quase gritando. “O dinheiro que você me prometeu, thakin! Você disse que ia me dar mais dinheiro. E eu quero já, neste instante!” “Mas como eu poderia lhe dar o dinheiro já? Você o receberá no mês que vem. Já lhe dei cento e cinqüenta rupias.” Para o sobressalto de Flory, ela começou a gritar “Paik-san pei-laik!” e outras frases semelhantes a plenos pulmões. Parecia à beira de uma crise histérica. O volume do ruído que ela produzia era impressionante. “Cale a boca! Vão ouvir você no Clube!”, exclamou ele, e imediatamente se arrependeu de ter posto a idéia na cabeça da jovem. “Ahá! Agora eu sei o que lhe dá medo! Se não der o meu dinheiro agora, vou gritar pedindo socorro e todos eles virão correndo. Depressa, já, ou eu começo a gritar.” “Sua ordinária!”, disse ele, e deu um passo na direção dela. Ela recuou com agilidade e se pôs fora de alcance, tirou o chinelo e encarou-o com ar de desafio. “Depressa! Cinqüenta rupias agora e o resto amanhã. Pague logo! Ou dou um grito que vão ouvir até no bazar!” Flory soltou um palavrão. Não era momento para uma cena dessas. Ele por fim puxou a carteira, encontrou nela vinte e cinco rupias e as jogou no chão. Ma Hla May pulou sobre as notas e contou o dinheiro. “Eu disse cinqüenta rupias, thakin!” “Mas como eu posso lhe dar o que não tenho? Acha que eu ando por aí com centenas de rupias no bolso?” “Eu disse cinqüenta rupias!” “Ora, saia do meu caminho!”, disse ele em inglês, passando por ela. Mas a infeliz não o deixaria em paz. Começou a segui-lo pelo caminho como um cão desobediente, gritando “Paik-san pei-laik! Paik-san pei-laik!”, como se o simples barulho pudesse fazer surgir o dinheiro do nada. Ele apressou o passo, em
parte para levá-la para longe do Clube, em parte na esperança de conseguir livrar-se dela, mas Ma Hla May parecia disposta a segui-lo até em casa, se necessário. Depois de algum tempo, ele não agüentou mais e virou-se para expulsá-la. “Vá embora agora mesmo! Se você continuar a me seguir, nunca mais lhe darei um anna sequer!” “Paik-san pei-laik!” “Sua idiota”, disse ele, “do que adianta você ficar andando atrás de mim? Como é que eu posso lhe dar o dinheiro quando não tenho nem um tostão aqui comigo?” “Até parece!” Ele apalpou os bolsos, desamparado. Estava tão nervoso que lhe daria qualquer coisa para livrar-se dela. Seus dedos encontraram a cigarreira, que era de ouro. E ele a tirou do bolso. “Tome, se eu lhe der isto você vai embora? Você pode empenhá-la por umas trinta rupias.” Ma Hla May deu a impressão de ponderar e depois disse, contrariada: “Dê aqui”. Ele jogou a cigarreira na relva ao lado da estrada. Ela pegou o objeto e imediatamente saltou para trás agarrando-o com força contra o seu ingyi, como se temesse que ele o tomasse de volta. Flory se virou e seguiu para casa, agradecendo a Deus por se ver livre do som da voz dela. A cigarreira era a mesma que ela havia roubado dez dias antes. No portão, ele se virou para trás. Ma Hla May ainda estava parada ao pé da ladeira, um bibelô acinzentado à luz da lua. Ela deve tê-lo observado subir a ladeira como um cão que não desprega os olhos de uma figura suspeita até ela desaparecer por completo. Estranho. Passou-lhe pela cabeça, como já lhe ocorrera dias antes quando ela lhe mandara a carta de extorsão, que aquele comportamento dela era curioso e inédito. Demonstrava uma tenacidade de que ele jamais a julgara capaz — quase, de fato, como se outra pessoa a estivesse estimulando.
*
18. Depois do desentendimento noturno que tiveram, Ellis planejava uma semana inteira de provocações a Flory. Decidira apelidá-lo de Noiva — forma reduzida de Noiva do Negrinho, o que as mulheres não sabiam — e já se empenhava em inventar as infâmias mais escandalosas sobre o adversário. Ellis sempre inventava infâmias sobre as pessoas com quem brigava — infâmias que iam aumentando de tamanho por seus repetidos adornos, transformando-se numa espécie de saga de escândalos. A descuidada afirmação de Flory de que o dr. Veraswami era “um ótimo sujeito” em pouco tempo havia se transformado em todo um número do Daily Worker repleto de blasfêmia e sedição. “Palavra de honra, senhora Lackersteen”, disse Ellis — a sra. Lackersteen fora tomada de uma súbita antipatia por Flory depois de descobrir o grande segredo acerca de Verrall e agora se mostrava mais do que disposta a dar ouvidos às fabulações de Ellis —, “palavra de honra, se a senhora estivesse lá ontem à noite e tivesse ouvido as coisas que esse Flory disse... bem, a senhora iria ficar indignada!” “É mesmo? Sabe, eu sempre achei as idéias dele muito diferentes! Do que ele anda falando agora? Espero que não seja a favor do socialismo...” “Pior.” Eram longos recitais. No entanto, para grande decepção de Ellis, Flory não ficou em Kyauktada para ser provocado. Voltara ao acampamento da floresta um dia depois de ser rejeitado por Elizabeth. Elizabeth ouviu as mais escandalosas histórias a seu respeito. Agora entendia perfeitamente o seu caráter. Compreendia por que tantas vezes ele a tinha aborrecido e irritado. Era um intelectual — a pior palavra do vocabulário dela —, um intelectual, comparável a Lênin, a. j. Cook e aqueles poetas sujos dos cafés de Montparnasse. Agora seria até mais fácil para ela perdoar-lhe a amante birmanesa. Três dias depois, Flory lhe escreveu uma carta muito pomposa, que ele mandou entregar-lhe em mãos — seu acampamento ficava a um dia de marcha de Kyauktada. Elizabeth não respondeu. Foi uma sorte para Flory estar ocupado demais para ter tempo de pensar. Com sua ausência prolongada, o acampamento enfrentava sérios problemas. Quase trinta coolies haviam desaparecido, o elefante doente tinha piorado e uma imensa pilha de troncos de teca, que deveria ter sido enviada uma semana antes, ainda estava no acampamento porque a pequena locomotiva continuava sem funcionar. Flory, que era louco por máquinas, engalfinhou-se com as entranhas da locomotiva até ficar negro de graxa e Ko S’la ir lhe dizer que um branco não devia “fazer trabalho de coolie”. A locomotiva foi finalmente convencida a funcionar, ou pelo menos a fazer barulho. Descobriram que o elefante doente tinha vermes. Quanto aos coolies, eles haviam desertado porque seu suprimento de ópio fora cortado — e eles se recusavam a ficar na floresta sem ópio, que consideravam um profilático eficiente contra as febres. U Po Kyin, na intenção de prejudicar Flory, tinha mandado os fiscais da
Receita apreender o ópio. Flory escreveu ao dr. Veraswami, pedindo sua ajuda. O médico lhe mandou uma certa quantidade de ópio obtido ilegalmente, remédios para o elefante e uma carta com instruções detalhadas. Uma solitária com mais de seis metros foi extraída do animal. Flory trabalhava doze horas por dia. À noite, quando não havia mais nada para fazer, ele mergulhava na selva e caminhava e caminhava até o suor arder-lhe nos olhos e os joelhos começarem a sangrar por causa dos espinhos. As noites eram a pior hora para ele. O amargor do que lhe tinha acontecido ia penetrando nele, como em geral acontece, bem paulatinamente. Enquanto isso, vários dias tinham se passado e Elizabeth ainda não conseguira ver Verrall a menos de cem metros de distância. Fora uma grande decepção ele não ter aparecido no Clube na noite de sua chegada. O sr. Lackersteen ficou bastante contrariado quando percebeu que fora obrigado a usar seu dinner-jacket por nada. Na manhã seguinte, a sra. Lackersteen fez o marido mandar um bilhete oficioso para o alojamento provisório, convidando Verrall para ir ao Clube; no entanto, não obtiveram resposta. Mais dias se passaram, e Verrall não fez nenhuma menção de juntar-se à sociedade local. Ignorou inclusive seus deveres oficiais, nem sequer se dando ao trabalho de apresentar-se no gabinete do sr. Macgregor. O alojamento provisório ficava do outro lado da cidade, perto da estação, e ele se instalara ali com algum conforto. A norma diz que esses alojamentos precisam ser desocupados ao cabo de alguns dias, mas Verrall a ignorava olimpicamente. Os europeus só o viam de manhã e ao cair da tarde no maidan. No segundo dia depois de sua chegada, cinqüenta de seus homens apareceram munidos de foices e apararam uma ampla área do maidan, depois do que foi possível ver Verrall galopando de um lado para o outro pelo gramado, praticando manobras de pólo. Ele nem tomava conhecimento dos europeus que passavam pela estrada. Westfield e Ellis ficaram furiosos, e até o sr. Macgregor declarou que Verrall estava tendo um comportamento “deselegante”. Teriam todos se atirado aos pés de um Tenente de Nascimento Nobre, se ele tivesse dado mostras mínimas de cortesia; no caso, porém, todos o detestaram desde o início, com exceção das duas mulheres. É sempre assim com os aristocratas: ou são adorados ou odiados. Se nos aceitam, são de uma simplicidade encantadora; se nos ignoram, são de um esnobismo detestável. Não existe meio-termo. Verrall era o filho mais novo de um membro da Câmara dos Lordes, e nem um pouco rico, mas graças ao método de quase nunca pagar suas contas a menos que se visse forçado por um mandado judicial, conseguia sustentar seus gastos com as duas únicas coisas de que realmente gostava: roupas e cavalos. Tinha vindo para a Índia com um regimento de cavalaria do Exército Britânico, mas se transferira para o Exército da Índia porque era mais barato e o deixava com mais tempo livre para jogar pólo. Ao final de dois anos, acumulara dívidas tão enormes que decidira entrar para a Polícia Militar Birmanesa, em que era notoriamente possível poupar muito dinheiro; no entanto, detestava a Birmânia — um péssimo país para um cavalariano — e já entrara com um pedido para retornar ao seu regimento de origem. Era o tipo
de militar que conseguia transferências sempre que queria. Enquanto isso, só precisaria ficar um mês em Kyauktada, e não tinha a menor intenção de se misturar com o desprezível sahiblog local. Ele sabia como era a sociedade naquelas pequenas localidades birmanesas — uma mistura sórdida de ausência de bons cavalos com casamentos arranjados. Ele desprezava essa gente. E não era a única espécie de gente que ele desprezava. Para catalogar todos os tipos que lhe desagradavam, seria necessário um trabalho prolongado. Verrall desprezava toda a população não militar da Índia, com a exceção de uns poucos jogadores famosos de pólo. E desprezava também todo o Exército, exceto a cavalaria. Desprezava todos os regimentos indianos, tanto de infantaria quanto de cavalaria. É bem verdade que ele próprio pertencia a um regimento nativo, mas apenas porque aquilo atendia à sua conveniência. Não tinha o menor interesse pelos indianos, e o pouco urdu que dominava consistia principalmente de insultos obscenos, com todos os verbos na terceira pessoa do singular. Seus policiais militares, ele tratava como se fossem meros coolies. “Meu Deus, que porco!”, muitas vezes o ouviam murmurar enquanto ele passava em revista suas fileiras, com o velho subahdar carregando a espada atrás dele. Certa ocasião, chegara até a ter problemas por causa de suas opiniões francas a respeito dos soldados nativos. Era um desfile geral da tropa e Verrall fazia parte do grupo de oficiais postado atrás do general. Um regimento indiano de infantaria se aproximava marchando. “É o... de Fuzileiros”, alguém comentou. “E olhe só o que eles nos apresentam”, emendou Verrall com sua voz de jovem azedo. O coronel do... de Fuzileiros, com seus cabelos brancos, estava próximo. Ficou vermelho até o pescoço e se queixou de Verrall ao general presente. Verrall foi repreendido, mas o general, ele próprio oficial do Exército Britânico, não insistiu muito na punição. De algum modo, nada de muito sério jamais acontecia a Verrall, por mais que ele insistisse num comportamento ofensivo. De um lado a outro da Índia, por onde passasse de serviço, deixava um rastro de pessoas ofendidas, deveres negligenciados e contas a pagar. Ainda assim, a desonra que deveria recair sobre ele nunca se manifestava. Ele levava uma vida de sonho, e não era só o título que o preservava. Alguma coisa em seu olhar atemorizava credores, burra memsahibs e até coronéis. Eram olhos desconcertantes, de um azul muito claro e um tanto protuberantes, mas excepcionalmente claros. Num único e frio escrutínio, que durava talvez cinco segundos, eles passavam a pessoa em revista, punham-na na balança e a classificavam como insatisfatória. Se o homem fosse do tipo certo — a saber, um oficial de cavalaria e jogador de pólo —, Verrall o aceitava e até o tratava com algum respeito contido; mas desprezava qualquer outro tipo de homem a tal ponto que, mesmo que quisesse, não conseguiria esconder seus sentimentos. Tampouco
fazia diferença se você fosse rico ou pobre. Claro, como todos os filhos de família rica, ele achava a pobreza repulsiva e que os pobres eram pobres porque preferiam hábitos repulsivos. Mas Verrall desprezava a vida confortável. Gastando, ou melhor, empenhando quantias fabulosas em roupas, ainda assim levava uma vida quase tão ascética quanto a de um monge. Exercitava-se de maneira incessante e brutal, racionava seus cigarros e suas bebidas, dormia numa cama de campanha (de pijamas de seda) e tomava banhos frios mesmo no mais rigoroso dos invernos. A equitação e a forma física eram as únicas divindades que reconhecia. O som dos cascos no maidan, a sensação de força e controle de seu corpo, colado à sela como se constituísse um centauro, o taco de pólo leve nas mãos — essa era a sua religião, sua razão de viver. Os europeus da Birmânia — os idiotas de cara amarelada que passavam o tempo bebendo e correndo atrás das mulheres — o enojavam toda vez que ele pensava em seus costumes. Quanto às obrigações sociais de qualquer tipo, ele as considerava uma perda de tempo e as ignorava por completo. Tinha horror às mulheres. A seu ver, eram uma espécie de sereias cuja única finalidade era desviar os homens do pólo e envolvê-los em jogos de tênis e em debates fúteis regados a chá. No entanto, não era totalmente avesso a elas. Era jovem, e mulheres de quase todos os tipos costumavam se atirar ao seu pescoço; de tempos em tempos, ele sucumbia. Mas seus lapsos logo o deixavam desgostoso, e, quando chegava a hora da separação, ele era insensível demais para ter qualquer dificuldade nas manobras de retirada. E já havia empreendido mais ou menos uma dúzia de fugas dessa natureza durante seus dois anos na Índia. Uma semana inteira se passou. Elizabeth não conseguira sequer ser apresentada a Verrall. Era uma coisa emocionante! Todo dia, de manhã e à tarde, ela e a tia caminhavam para o Clube e de volta para casa, passando ao lado do maidan; e lá estava Verrall treinando pólo, rebatendo bolas que os cipaios atiravam para ele e ignorando completamente as duas mulheres. Tão perto e ao mesmo tempo tão longe! O que tornava as coisas ainda piores era que nenhuma das duas achava decente abordar o assunto de maneira direta. Uma tarde, a bola de pólo, rebatida com excesso de força, veio correndo pela grama e rolou pela estrada bem à frente delas. Na mesma hora Elizabeth e a tia pararam de caminhar. Mas foi só um cipaio quem veio correndo buscar a bola. Verral tinha visto as mulheres e se mantivera afastado. Na manhã seguinte, a sra. Lackersteen fez uma pausa quando abria o portão de casa para sair. Ultimamente, desistira de ser transportada em seu riquixá. Na outra extremidade do maidan, os policiais militares estavam em formação, uma fileira cor de terra com as baionetas cintilando ao sol. Verrall estava de frente para eles, mas não de uniforme — quase nunca vestia o uniforme para a ordem unida da manhã, julgando desnecessário fazê-lo para comandar simples policiais militares. As duas mulheres olhavam para toda parte, menos para Verrall, e ao mesmo tempo, de algum modo, davam um jeito de espiá-lo. “E o pior”, disse a sra. Lackersteen — à propos de bottes, mas o assunto não
precisava de preâmbulo — “o pior é que, infelizmente, o seu tio vai ser obrigado a voltar para o acampamento em poucos dias.” “Mas será preciso mesmo?” “Infelizmente, sim. E o acampamento é um lugar horrível nesta época do ano! Ah, os mosquitos!” “Ele não pode ficar um pouco mais? Uma semana, talvez?” “Não sei como ele poderia. Já faz quase um mês que está aqui no escritório. Iriam ficar furiosos na firma se soubessem disso. E é claro que nós duas teremos de ir com ele. É tão aborrecido! Os mosquitos... uma coisa simplesmente horrível!” Horrível mesmo! Ser obrigada a ir embora antes que Elizabeth sequer tivesse conseguido dizer “muito prazer” a Verrall! Mas certamente elas teriam de ir junto, se o sr. Lackersteen fosse para a floresta. Nunca poderiam deixá-lo ir sozinho. O diabo sempre dá jeito de inventar uma tentação, mesmo na selva. Um movimento espalhou-se como fogo entre os cipaios; estavam desprendendo as baionetas dos fuzis antes de se retirarem em marcha. O destacamento empoeirado virou à esquerda, prestou continência e saiu marchando em colunas de quatro. Os ordenanças destacaram-se das fileiras com os cavalos e os tacos de pólo. A sra. Lackersteen tomou uma decisão heróica. “Acho”, disse, “que vamos cortar caminho pelo meio do maidan. É mais rápido do que contorná-lo pela estrada.” O caminho era mesmo mais curto, cerca de cinqüenta metros, só que ninguém jamais o atravessava a pé, por causa das sementes de capim que davam um jeito de se insinuar para dentro das meias. A sra. Lackersteen irrompeu resoluta pelo relvado, e então, desistindo até do pretexto de estar indo para o Clube, descreveu uma linha reta na direção de Verrall, seguida por Elizabeth. Qualquer uma das duas teria preferido morrer torturada a admitir que a idéia não era simplesmente pegar um atalho para o Clube. Verral viu-as aproximar-se, soltou um impropério e puxou as rédeas de seu cavalo. Não podia mais dar-lhes as costas, agora que elas vinham abertamente abordá-lo. Que maldito topete, o dessas mulheres! Aproximou-se delas devagar, a passo, com uma expressão concentrada no rosto, conduzindo a bola de pólo com tacadas levíssimas. “Bom dia, senhor Verrall!”, exclamou a sra. Lackersteen com voz açucarada, a quase vinte metros dele. “Bom dia!”, respondeu ele contrariado, reconhecendo o rosto dela e o incluindo na categoria das costumeiras galinhas-mortas magrelas que assolavam os postos coloniais na Índia. No momento seguinte Elizabeth se emparelhou à tia. Tinha tirado os óculos e balançava o chapéu nas mãos. Pouco se lhe dava pegar uma insolação! Estava perfeitamente consciente da beleza de seus cabelos curtos. Um sopro de vento — ah, essas abençoadas rajadas de vento, vindas de lugar nenhum nos dias sufocantes de
verão! — atingira seu vestido leve de algodão e o impelira contra seu corpo, esbelto e forte como uma árvore. O súbito aparecimento dela ao lado da mulher mais velha, curtida pelo sol, foi uma revelação para Verrall. Ele teve um sobressalto, sentido pela égua árabe, que quase empinou; ele precisou puxar a rédea. Até aquele momento, Verrall não sabia, não tinha se dado ao trabalho de perguntar, que houvesse mulheres jovens em Kyauktada. “Minha sobrinha”, disse a sra. Lackersteen. Ele não respondeu, mas tinha jogado no chão o taco de pólo, e tirou seu topi. Por um instante, ele e Elizabeth trocaram um olhar. Seus rostos jovens não apresentavam marcas sob aquela luz impiedosa. As sementes de capim faziam cócegas nos tornozelos de Elizabeth, de maneira que aquilo era uma agonia, e sem os óculos ela só conseguia enxergar Verrall e seu cavalo como um borrão esbranquiçado. Mas estava feliz, feliz! Seu coração disparou e o sangue inundou seu rosto, tingindo-o como uma gota de aquarela que se espalha na água. O pensamento “Um pêssego, por Deus!” avançou impetuoso pelo espírito de Verrall. Os silenciosos indianos, que seguravam a cabeça dos cavalos, contemplavam curiosos a cena, como se até eles estivessem impressionados com a boa aparência daqueles dois jovens. A sra. Lackersteen quebrou o silêncio, que durara meio minuto. “Sabe, senhor Verrall”, disse ela num tom um tanto malicioso, “achamos muito pouco gentil de sua parte ter ignorado a todos, pobres de nós, por tanto tempo. Quando estamos sempre loucos para conhecer caras novas no Clube.” Ele ainda olhava para Elizabeth quando respondeu, porém a mudança em sua voz foi notável. “Há vários dias venho pensando em passar por lá. Mas ando tão ocupado, instalando meus homens no alojamento e tudo o mais. Sinto muito”, acrescentou ele, que não tinha o hábito de se desculpar, porém ele chegara à conclusão de que aquela jovem era realmente um achado fora do comum. “Sinto muito não ter respondido ao seu bilhete.” “Ah, nem se incomode! Nós entendemos perfeitamente. Mas podemos contar que o senhor apareça hoje à noite no Clube? Porque, sabe”, concluiu ela num tom de malícia ainda mais acentuado, “se o senhor continuar nos decepcionando, vamos começar a achar que o senhor é um rapaz muito malvado!” “Sinto muito”, repetiu ele. “Estarei lá hoje à noite.” Não havia muito mais o que dizer, e as duas mulheres seguiram caminho para o Clube. Entretanto, mal ficaram lá por cinco minutos. As sementes de capim estavam atormentando seus tornozelos a tal ponto que se viram obrigadas a voltar correndo para casa para trocar de meias imediatamente. Verrall manteve a promessa e foi ao Clube naquela noite. Chegou um pouco mais cedo que os demais, e já fizera sua presença ser mais do que notada antes de completar cinco minutos no recinto. Quando Ellis entrou no Clube, o velho mordomo saiu como um raio do salão de jogos e cortou o seu caminho. Estava muito
perturbado, com as lágrimas a lhe correr pelas faces. “Senhor Ellis! Senhor Ellis!” “Que diabo aconteceu agora?”, perguntou Ellis. “Senhor Ellis! Senhor Ellis! Novo patrão me bateu!” “O quê?” “Me bateu, senhor Ellis!” sua voz ficou mais aguda no “bateu”, prolongando chorosamente o som da palavra — “batee-e-ee-eeu”! “Bateu em você? Alguma você deve ter feito. Mas quem bateu em você?” “O patrão novo, senhor Ellis. Sahib da Polícia Militar. Me bateu, me deu um pontapé, senhor Ellis, bem aqui!” E esfregou o traseiro. “Que inferno!”, disse Ellis. E entrou no salão. Verrall estava lendo a Field, invisível, exceto pela bainha das calças e pelos dois sapatos lustrosos marrom-escuros. Nem se deu ao trabalho de se levantar ao ouvir que outra pessoa entrava no recinto. Ellis parou bem à sua frente. “Ei, você... Como é que se chama? Verrall!” “O quê?” “Andou dando pontapés no nosso mordomo?” O olhar azul e indiferente de Verrall apareceu por trás de um dos cantos da Field, como o olho de um crustáceo espiando por trás de uma pedra. “O quê?”, repetiu. “Perguntei se você andou dando pontapés no nosso maldito mordomo!” “Andei.” “E que diabo você está pensando?” “O desgraçado respondeu para mim. Pedi um uísque com soda para ele, e ele trouxe as bebidas quentes. Pedi que pusesse gelo, e ele se recusou, e me disse alguma idiotice sobre economizar os últimos pedaços de gelo. E eu lhe dei um chute. Muito merecido!” Ellis ficou cinza. Estava furioso. O mordomo era propriedade do Clube e não podia ser chutado por desconhecidos. Mas o que mais enfurecia Ellis era a idéia de que Verrall pudesse suspeitar que ele sentia pena do mordomo. Na verdade o que reprovava era o pontapé em si. “Merecido? Acho que realmente foi merecido. Mas que diabo uma coisa tem a ver com a outra? Quem é você para chegar aqui dando pontapés nos nossos criados?” “Calma, meu amigo. Ele bem que precisava de um pontapé. Vocês deixaram os seus criados escapar ao controle por aqui.” “Seu maldito carrapato insolente, o que você tem a ver com o fato de ele precisar de um pontapé? Você nem mesmo é sócio deste Clube! Só quem pode chutar os nossos criados somos nós, e mais ninguém!” Verrall baixou a Field e deixou seu outro olho envolver-se na situação. Sua voz arrogante não mudou de tom. Ele nunca perdia a cabeça com outro europeu; nunca
era necessário. “Meu bom amigo, se alguém me dá uma resposta impertinente, eu lhe dou um pontapé no rabo. Quer que eu dê um no seu também?” Todo o ímpeto de Ellis se apagou no mesmo instante. Ele não estava com medo, nunca tivera medo na vida; mas o olhar de Verrall fora demais para ele. Aqueles olhos podiam fazer a pessoa sentir como se o Niágara estivesse desabando sobre ela! Os desaforos murcharam nos lábios de Ellis; sua voz quase sumiu. E ele disse em tom hostil, até mesmo queixoso: “Mas ora bolas, ele fez muito bem de não lhe dar o último maldito pedaço de gelo. Está achando que é para você que compramos gelo? Só recebemos gelo duas vezes por semana neste lugar.” “Então é porque não sabem mesmo administrar as coisas”, disse Verrall, e voltou para trás da Field, disposto a deixar o assunto morrer. Ellis ficou sem saber o que fazer. A calma com que Verrall voltara ao seu jornal, para todos os efeitos se esquecendo da existência de Ellis, era enlouquecedora. Será que não devia aplicar um bom pontapé naquele idiota? O pontapé, porém, nunca foi desferido. Verrall fizera por merecer muitos pontapés na vida, mas nunca recebera nenhum, e o mais provável era que nunca viesse a recebê-los. Ellis voltou ao salão de jogos sem saber o que fazer, decidido a descarregar sua raiva no mordomo, deixando o salão sob o domínio de Verrall. Quando o sr. Macgregor atravessou o portão de entrada do Clube, ouviu a música. Fendas amarelas de luz de lampião se revelavam em meio à trepadeira que cobria o alambrado da quadra de tênis. O sr. Macgregor estava muito satisfeito aquela noite. Prometera-se uma conversa longa e produtiva com a srta. Lackersteen — uma jovem de inteligência excepcional! — e tinha uma anedota muito interessante para lhe contar (na verdade, uma história que já viera à luz num daqueles artiguetes que costumava ler na Blackwood’s) sobre uma rebelião ocorrida em Sagaing em 1913. Ela iria adorar a história, ele estava convencido disso. Cheio de expectativas, contornou o alambrado. Na quadra, a uma luz que combinava o luar minguante com lampiões pendurados nas árvores, Verrall e Elizabeth dançavam. Os chokras tinham trazido cadeiras e uma mesa para o gramofone, e em torno dele os demais europeus estavam sentados ou de pé. Enquanto o sr. Macgregor parava num dos cantos da quadra, Verrall e Elizabeth deram uma volta e passaram deslizando a menos de um metro dele. Dançavam muito juntos, o corpo dela inclinado para trás sob o dele. Nenhum dos dois percebeu a presença do sr. Macgregor. O sr. Macgregor deslocou-se pela quadra. Uma sensação fria e desolada tomara conta de suas vísceras. Adeus, então, para a conversa que planejara ter com a srta. Lackersteen! Custou-lhe muito esforço obrigar seu rosto a assumir a costumeira expressão de bonomia enquanto se aproximava da mesa. “Uma noite em honra de Terpsícore!”, comentou, com uma voz que soava tristonha contra a sua vontade.
Ninguém respondeu. Todos observavam o casal que dançava na quadra de tênis. Completamente indiferentes à presença dos demais, Elizabeth e Verrall deslizavam e giravam, os sapatos patinando com facilidade no cimento escorregadio. Verrall dançava como cavalgava, com uma graça incomparável. O gramofone tocava “Show me the way to go home”, que àquela época corria o mundo como uma praga e chegara também até a Birmânia:
Mostre-me o caminho de casa Estou cansado e só quero ir dormir Tomei uma bebida uma hora atrás E ela não pára de subir! etc.
Aquele lixo deprimente flutuava em meio às árvores copadas e aos aromas densos das flores, repetindo-se vezes sem conta, porque a sra. Lackersteen se encarregava de voltar com a agulha do gramofone para o início do disco sempre que ela se aproximava do centro. A lua subiu mais no céu, muito amarela, parecendo, quando emergiu das nuvens escuras que se aglomeravam no horizonte, uma mulher doente a se arrastar para fora da cama. Verrall e Elizabeth continuavam a dançar e a dançar, incansáveis, uma mancha clara e voluptuosa em meio à penumbra. Deslocavam-se num uníssono perfeito, como um animal. O sr. Macgregor, Ellis, Westfield e o sr. Lackersteen os observavam, as mãos nos bolsos, sem encontrar o que dizer. Os mosquitos vinham mordiscar seus tornozelos. Alguém pediu uma rodada de bebidas, mas o uísque foi como cinza em suas bocas. As vísceras dos quatro homens mais velhos estavam reviradas de uma inveja profunda. Verrall não tirou a sra. Lackersteen para dançar, nem, quando ele e Elizabeth finalmente se sentaram, tomou conhecimento dos outros europeus. Limitou-se a monopolizar Elizabeth por mais uma hora e em seguida, com um breve boa-noite para os Lackersteen e nem uma palavra para qualquer outra pessoa, foi embora do Clube. A longa dança com Verrall deixara Elizabeth numa espécie de sonho. Ele a convidara para sair a cavalo com ele! Ia emprestar a ela um de seus cavalos! Elizabeth nem reparou que Ellis, irritado com o comportamento dela, fazia o possível para mostrar-se grosseiro. Já era tarde quando os Lakersteen chegaram em casa, mas nem Elizabeth nem a tia conseguiram dormir. Trabalharam febrilmente até a meia-noite, encurtando um par de jodhpurs da sra. Lackersteen e alargando suas bainhas, para que coubessem em Elizabeth. “Espero, minha querida, que você saiba andar a cavalo!”, disse a sra. Lackersteen. “Ah, é claro! Cavalguei muito na Inglaterra.” Montara a cavalo talvez umas doze vezes no total, quando tinha dezesseis anos. Tanto fazia, ela daria um jeito! Montaria num tigre, se Verrall estivesse em sua
companhia. Quando por fim os jodhpurs ficaram prontos e Elizabeth os experimentou, a sra. Lackersteen suspirou ao vê-la. Ela ficava deslumbrante de jodhpurs, simplesmente deslumbrante! E pensar que dentro de apenas um ou dois dias precisariam voltar para o acampamento, para passar semanas, meses talvez, deixando Kyauktada e aquele jovem tão apetecível! Que pena! Enquanto subiam para os quartos, a sra. Lackersteen parou junto à porta. Passara-lhe pela cabeça fazer um sacrifício importante e doloroso. Segurou os ombros de Elizabeth e a beijou com o carinho mais autêntico que já demonstrara na vida. “Minha querida, seria uma pena você ir embora de Kyauktada logo agora!” “É mesmo.” “Então vou lhe dizer uma coisa, querida. Nós não vamos voltar para aquela selva horrenda! O seu tio vai sozinho. Você e eu vamos ficar em Kyauktada.”
*
19. O calor ficava cada vez pior. Abril quase chegava ao fim, mas não havia esperança de chuva nas três semanas seguintes, ou cinco, quem sabe. Até as lindas auroras passageiras eram arruinadas pela lembrança das horas longas e cegantes que a sucederiam, quando a cabeça latejava e a claridade ultrapassava qualquer obstáculo, colando as pálpebras em um sono inquieto. Ninguém, fosse oriental ou europeu, conseguia ficar acordado no calor do dia sem muita dificuldade; à noite, por outro lado, com o uivo dos cães e as poças de suor que se acumulavam e atormentavam as brotoejas que o calor produzia na pele de todos, ninguém conseguia dormir. Os mosquitos no Clube atacavam com tamanha intensidade que bastões de incenso precisavam ficar acesos em todos os cantos, e as mulheres se sentavam com as pernas enfiadas em fronhas. Só Verrall e Elizabeth estavam indiferentes ao calor. Eram jovens e tinham o sangue fresco, e Verrall se mostrava sociável demais, e Elizabeth feliz demais, para prestarem atenção ao clima. Houve muitos mexericos e ameaças de escândalo no Clube naqueles dias. Verrall deixara a todos desconcertados. Adotara o hábito de vir passar uma ou duas horas no Clube todas as noites, mas ignorava os demais membros, recusava as bebidas que lhe ofereciam e respondia com monossílabos inexpressivos a qualquer tentativa de conversa. Ficava sentado debaixo do punkah, na poltrona antes sagrada e reservada da sra. Lackersteen, lendo os jornais e revistas que o interessavam, até a chegada de Elizabeth, quando então dançava e conversava com ela por uma ou duas horas e depois partia sem sequer se despedir de ninguém. Enquanto isso, o sr. Lackersteen estava sozinho no acampamento, e, segundo os boatos que chegavam a Kyauktada vindos de lá, consolava sua solidão com uma considerável miscelânea de mulheres birmanesas. Elizabeth e Verrall saíam para cavalgar quase todas as tardes. As manhãs de Verrall, depois da inspeção, eram consagradas aos treinos de pólo, mas ele decidira que valia a pena abrir mão das demais atividades da tarde em favor de Elizabeth. A jovem demonstrava um talento natural para a equitação, como ocorrera com a caça; teve até a segurança de contar a Verrall que tinha “caçado bastante” na Inglaterra. Ele viu na mesma hora que era mentira, mas pelo menos ela não montava mal a ponto de se tornar uma companhia incômoda. Costumavam percorrer a estrada vermelha que entrava pela floresta, atravessar o riacho junto ao imenso pyinkado coberto de orquídeas e depois seguir pela estreita trilha de carroça, onde a terra era macia e os cavalos podiam galopar. Fazia um calor asfixiante na floresta empoeirada, e sempre se ouviam os rumores distantes de uma trovoada seca. Passarinhos esvoaçavam em torno dos cavalos, acompanhando o ritmo deles, à caça das moscas que seus cascos faziam levantar vôo. Elizabeth montava o cavalo baio, Verral a égua branca. Na volta para casa, conduziam lado a lado, a passo, as montarias escurecidas pelo suor, tão próximos que às vezes o joelho
dele encostava no dela, e conversavam. Verrall conseguia deixar de lado seus modos ofensivos e conversar amigavelmente quando queria, e era o que queria no caso de Elizabeth. Ah, a alegria dessas cavalgadas a dois! A alegria de estarem montados e no mundo dos cavalos — o mundo da caça à raposa e das corridas, do pólo e da caça ao javali! Ainda que Elizabeth não tivesse nenhum outro motivo para gostar de Verrall, ela o amaria por ter introduzido os cavalos em sua vida. Ela o atormentava para falar de cavalos, como antes insistia com Flory para falar de caçadas. A verdade é que Verrall não era de falar muito. Umas poucas frases rosnadas e bruscas sobre o pólo e a caça ao javali, e um catálogo de postos na Índia e de nomes de regimentos, era o melhor que ele tinha a apresentar. Ainda assim, o pouco que ele lhe dizia conseguia deixar Elizabeth mais excitada do que todos os discursos que Flory fazia. A mera visão do jovem oficial montado era mais evocativa que quaisquer palavras. A aura da cavalaria e da vida militar o envolvia. Em seu rosto bronzeado e em seu corpo firme e ereto, Elizabeth via toda a aventura, todo o esplêndido panache da vida de um cavalariano. Via a Fronteira do Noroeste e o Clube da Cavalaria — via os campos de pólo e os acampamentos empoeirados, e os esquadrões castanhos de cavaleiros galopando com as longas lanças assestadas e as pontas dos turbantes esvoaçando; ouvia os toques do clarim e o tilintar das esporas, e as bandas dos regimentos tocando à porta do refeitório enquanto os oficiais sentavam-se para jantar com seus deslumbrantes uniformes engomados. Como era esplêndido o mundo eqüestre, como era esplêndido! E era o mundo dela, um mundo a que ela pertencia, para o qual nascera. Naqueles dias, ela vivia, pensava e sonhava só com cavalos, quase como o próprio Verrall. Chegou um momento em que ela não só contava suas patranhas sobre ter “caçado bastante” como quase chegava a acreditar nelas. Os dois se davam muito bem em todos os aspectos. Ele nunca a entediava ou incomodava como Flory. (Na verdade, ela quase se esqueceu de Flory depois de um tempo; quando pensava nele por algum motivo, era da marca de nascença que sempre se lembrava.) Verrall, como ela, e mais ainda, detestava tudo que fosse “intelectual”. Certa vez, chegou a dizer a ela que não lia um livro desde os dezoito anos e que na verdade “tinha horror” aos livros, “menos, claro, Jorrocks e tudo aquilo”. Na noite da terceira ou quarta cavalgada dos dois, despediram-se junto ao portão da casa dos Lackersteen. Verrall conseguira resistir a todos os convites da sra. Lackersteen para várias refeições; ainda não pusera o pé no interior da casa e não tinha a menor intenção de fazê-lo. Enquanto o syce levava embora o cavalo de Elizabeth, Verrall disse: “Vamos combinar uma coisa. Da próxima vez que sairmos, você monta em Belinda. Eu irei no castanho. Acho que você já conhece o bastante para não cortar a boca de Belinda.” Belinda era a égua árabe. Fazia dois anos que Verrall a tinha comprado e até então
nunca permitira que outra pessoa a cavalgasse, nem mesmo o syce. Era a maior generosidade que ele podia conceber. E Elizabeth apreciava em tal medida o ponto de vista de Verrall que compreendeu a grandeza do privilégio e ficou gratíssima. Na tarde seguinte, enquanto cavalgavam lado a lado de volta para casa, Verrall passou o braço pelo ombro de Elizabeth e puxou-a para si. Ele era muito forte. Soltou a rédea e, com a mão livre, ergueu o rosto dela para que ficasse mais próximo do seu; suas bocas se encontraram. Por um momento ele a manteve presa assim, em seguida baixou-a até o chão e desmontou de seu cavalo. Ficaram abraçados, com as camisas finas e encharcadas grudadas uma na outra, as duas rédeas presas no braço dele. Foi mais ou menos no mesmo momento que Flory, a trinta quilômetros dali, resolveu voltar a Kyauktada. Estava de pé à beira da selva, junto à margem de um riacho seco, até onde havia caminhado para se cansar, observando alguns minúsculos passarinhos sem nome que comiam as sementes da relva alta. Os machos eram de um amarelo vivo, as fêmeas pareciam andorinhas. Pequenos demais para envergar os talos, eles vinham batendo as asas em velocidade na direção deles, agarravam-nos em pleno vôo e os prendiam ao chão com seu peso. Flory observava as aves sem curiosidade, e quase detestava os pássaros por não serem capazes de lhe despertar a menor centelha de entusiasmo. Em seu ócio, ele brandiu o dah na direção dos animais e conseguiu assustá-los. Se ela estivesse aqui, se ela estivesse aqui! Tudo — os pássaros, as árvores, as flores, tudo — estava morto e sem sentido devido à ausência dela. Com a passagem dos dias, a conclusão de que a tinha perdido se tornara mais certa e real, até envenenar todos os momentos de sua vida. Passou mais algum tempo na selva, cortando cipós com seu dah. Tinha a sensação de que seus membros estavam inermes e pesavam como chumbo. Viu um pé de baunilha silvestre preso a um arbusto e se inclinou para cheirar suas flores frágeis e fragrantes. O aroma lhe trouxe uma sensação de imobilidade e de tédio mortal. Tão só, tão só, ilhado em pleno mar da vida! A dor era tão grande que esmurrou o tronco de uma árvore, dando um mau jeito no braço e esfolando dois dedos. Precisava voltar a Kyauktada. Era uma loucura, pois mal haviam se passado quinze dias desde aquela cena entre eles, e sua única chance era dar tempo a ela para que esquecesse aquilo tudo. Ainda assim, ele sentia que precisava voltar. Não podia ficar mais naquele lugar fatídico, sozinho com seus pensamentos em meio àquelas folhagens incontáveis e indiferentes. Uma idéia feliz lhe ocorreu. Ele poderia levar para Elizabeth a pele de leopardo que estava sendo curtida para ela na prisão. Seria um pretexto para vê-la, e quando a pessoa chega trazendo presentes geralmente é bem recebida. Dessa vez ele não a deixaria cortar-lhe a palavra. Pretendia explicar, explanar — fazê-la perceber que fora injusta com ele. Não era certo condená-lo por sua ligação com Ma Hla May, a quem ele pusera para fora de casa por causa da própria Elizabeth. Ela só poderia
perdoá-lo, quando ouvisse toda a verdade. E dessa vez ela haveria de ouvir; ele a obrigaria a escutar, mesmo que precisasse segurá-la pelos braços enquanto falava. Voltou para a cidade naquela mesma noite. Era uma viagem de trinta quilômetros, através de caminhos abertos e sulcados pelos carros de boi, mas Flory decidiu caminhar à noite, com o pretexto de que era mais fresco. Os criados quase se amotinaram diante da idéia de uma marcha noturna, e no último instante o velho Sammy desabou num ataque não lá muito genuíno e precisou ser amaciado com muito gim antes de conseguir partir. Era uma noite sem lua. Caminhavam à luz de lampiões, à qual os olhos de Ko S’la brilhavam como esmeraldas e os olhos dos bois como opalas. Quando o sol surgiu, os criados pararam para juntar galhos secos e preparar o café-da-manhã, mas Flory estava indócil para chegar logo a Kyauktada e seguiu em frente apressado. Não sentia o menor cansaço. A lembrança da pele de leopardo o deixara repleto em excesso de esperanças. Atravessou o rio cintilante a bordo da sampana e seguiu direto para o bangalô do dr. Veraswami, ao qual chegou por volta das dez. O médico o convidou a tomar o café-da-manhã e, depois de enxotar as mulheres para algum esconderijo adequado, levou-o até o seu próprio banheiro, para que Flory pudesse lavar-se e fazer a barba. No café-da-manhã, o médico estava muito agitado e cheio de denúncias contra o “crocodilo”, pois parecia que a pseudo-rebelião estava a ponto de eclodir. Foi só depois do café-da-manhã que Flory teve oportunidade de tocar no assunto da pele de leopardo. “Ah, e aliás, doutor. O que foi feito da pele que mandei para ser curtida na cadeia? Já ficou pronta?” “Ah...”, respondeu o médico num tom um pouco desconcertado, esfregando o nariz. Entrou em casa — estavam tomando o café na varanda, porque a mulher do médico protestara violentamente contra receber Flory na sala — e voltou momentos depois com a pele enrolada. “Na verdade...”, começou ele, desenrolando a pele. “Ah, doutor!” A pele tinha sido completamente arruinada. Estava dura como papelão, com o couro rachado e a pelagem descolorida e até falha em certos pontos. E também fedia de modo abominável. Em vez de ter sido curtida, fora convertida em lixo. “Ora, doutor, que desgraça fizeram com a pele! Como diabos ela ficou assim?” “Desculpe, meu bom amigo! Eu ia lhe pedir perdão. Foi o melhor que conseguimos. Não há mais ninguém na prisão que saiba curtir peles.” “Mas ora, aquele prisioneiro sabia curtir tão bem!” “Ah, sim. Mas já faz três semanas que ele foi embora, infelizmente.” “Embora? Mas achei que ele estava cumprindo pena de sete anos!” “Como? O senhor não ouviu falar, meu amigo? Achei que soubesse quem era o homem que curtia peles. Era Nga Shwe O.” “Nga Shwe O?”
“O dacoit que fugiu da cadeia com a ajuda de U Po Kyin.” “Ah, que diabo!” Aquele imprevisto o deixou terrivelmente desanimado. Ainda assim, no correr da tarde, depois de tomar um banho e vestir um terno limpo, ele foi até a casa dos Lackersteen, por volta das quatro. Era cedo demais para uma visita, mas queria ter certeza de encontrar Elizabeth em casa antes que ela fosse ao Clube. A sra. Lackersteen, que estava dormindo e foi surpreendida pela visita, recebeu-o de má vontade, sem sequer perguntar-lhe se queria se sentar. “Infelizmente, Elizabeth ainda não desceu. Está se vestindo para sair num passeio a cavalo. Não seria melhor deixar-lhe um bilhete?” “Eu gostaria de vê-la, se a senhora não se incomodar. Eu trouxe a pele do leopardo que nós dois matamos juntos.” A sra. Lackersteen o deixou de pé na sala de visitas, tomado pela sensação desconfortável de ser anormalmente grande, como costuma ocorrer nessas ocasiões. Mesmo assim, ela foi chamar Elizabeth, aproveitando a oportunidade para lhe sussurrar junto à porta: “Livre-se desse homem horrível o mais rápido que puder, querida. Não suporto a idéia de tê-lo aqui em casa a esta hora do dia”. Quando Elizabeth entrou na sala, o coração de Flory disparou com tamanha violência que uma névoa vermelha passou diante de seus olhos. Ela usava uma blusa de seda e um par de jodhpurs, e estava um pouco queimada de sol. Nem nas lembranças dele ela aparecia tão linda. Ele se acovardou; no mesmo instante, ficou desorientado — todos os fiapos de coragem que ele havia reunido desapareceram. Em vez de dar um passo à frente para aproximar-se dela, ele recuou. E ouviu um estrépito assustador atrás de si; tinha desequilibrado uma mesinha e derrubado no chão um vaso de zínias. “Ah, sinto muito!” exclamou, horrorizado. “Ora, não se preocupe! Por favor, não se preocupe!” Ela o ajudou a levantar a mesa, o tempo todo tagarelando com tanta alegria e leveza, como se nada tivesse acontecido: “O senhor passou muito tempo fora, senhor Flory! Virou quase um estrangeiro! Sentimos muito a sua falta no Clube!” etc. etc. Ela grifava praticamente uma palavra a cada duas, com aquela mortífera vivacidade cintilante que a mulher adota ao se esquivar a um dever moral. Ele estava com um medo terrível dela. Nem conseguia olhar para o seu rosto. Ela pegou uma cigarreira e ofereceu-lhe um cigarro, mas ele recusou. Sua mão tremia demais para pegar um cigarro. “Eu lhe trouxe aquela pele de leopardo”, disse ele em tom inexpressivo. Desenrolou a pele em cima da mesa que tinham acabado de levantar. A pele tinha uma aparência tão pobre e infeliz que ele preferiu nem tê-la trazido. Ela chegou perto dele para examinar a pele, tão próximo que seu rosto acetinado ficou a pouco mais de um palmo e ele sentiu o calor de seu corpo. Tão grande foi o medo que teve
dela que se afastou apressado. No mesmo instante ela também deu um passo para trás, depois de sentir o mau cheiro da pele. Ele ficou terrivelmente envergonhado. Era quase como se fosse ele, e não a pele, que fedia tanto. “Muitíssimo obrigada, senhor Flory!” Ela pusera mais um metro entre ela e a pele. “Uma pele adorável, não é mesmo?” “Era, mas ela foi estragada, sinto muito.” “Ah, não! Vou adorar ficar com ela! E o senhor está de volta a Kyauktada por muito tempo? O calor devia estar terrível no acampamento!” “É, tem feito muito calor.” Passaram três minutos falando do tempo. Ele não sabia o que fazer em seu desamparo. Tudo que se prometera dizer, todos os seus argumentos, todas as suas súplicas, murcharam em sua garganta. “Idiota, idiota”, pensava ele, “o que está fazendo? Foi para isso que caminhou trinta quilômetros? Vamos, diga logo o que veio dizer! Pegue-a nos braços; obrigue-a a escutar, bata nela, dê-lhe pontapés, tudo, mas não a deixe sufocar você com essas inanidades!” Mas foi em vão, em vão. Nenhuma palavra a sua língua conseguia proferir além de fúteis trivialidades. Como ele podia rogar ou discutir, quando aqueles modos dela, ligeiros e felizes, baixando cada palavra ao nível da conversa vazia do Clube, conseguia silenciá-lo antes mesmo que começasse? Onde será que elas aprendem essa horrenda leveza risonha? Nas escolas modernas e elegantes para moças, sem dúvida. A carniça estendida na mesa o deixava mais constrangido a cada momento. Estava ali de pé quase sem voz, desgracioso e feio com seu rosto amarelo e amarrotado depois da noite insone, com a marca de nascença a se destacar como um imenso respingo de lama. Ela livrou-se dele em pouquíssimos minutos. “E agora, senhor Flory, se o senhor não se importa, eu preciso...” E ele murmurou, mais do que respondeu: “Mas você não aceita sair de novo comigo algum dia? Para caminhar, caçar... alguma coisa?”. “Ando com tão pouco tempo ultimamente! Todas as minhas tardes estão ocupadas! Hoje, por exemplo, vou passear a cavalo. Com o senhor Verrall”, acrescentou ela. É possível que ela tenha acrescentado a informação com a intenção de magoá-lo. Era a primeira vez que ele ouvia falar da amizade entre ela e Verrall. E não conseguiu evitar o tom de ciúme contido e mortal na voz quando disse: “E você tem saído muito para cavalgar com Verrall?” “Quase todas as tardes. Ele monta tão bem! E tem rebanhos de cavalos de pólo!” “Ah. E eu, claro, não tenho nenhum.” Era a primeira coisa que ele dizia que se aproximava de uma declaração séria. Ainda assim, ela continuou a responder com o mesmo ar de desembaraço ligeiro de antes e depois o conduziu até a porta. A sra. Lackersteen voltou à sala de visitas, farejou o ar e imediatamente ordenou que os criados levassem aquela pele malcheirosa de leopardo para fora e a queimassem.
Flory demorou-se junto ao portão de seu jardim, fingindo alimentar os pombos. Não podia se furtar à dor de ver a partida de Elizabeth e Verrall para o seu passeio. Como ela tinha se comportado de maneira vulgar e cruel com ele! É horrível quando as pessoas nem sequer têm a decência de brigar. Em seguida, Verrall apareceu junto à porta da casa dos Lackersteen montado na égua branca, com um syce montado no castanho, depois ocorreu uma pausa e logo os dois emergiram juntos, Verrall montado no cavalo castanho, Elizabeth na égua branca, e saíram trotando rapidamente ladeira acima. Conversavam e riam, os ombros dela envoltos na camisa de seda muito próximos aos dele. Nenhum dos dois olhou na direção de Flory. Depois que desapareceram na floresta, Flory continuou matando tempo no jardim. A luz do dia se atenuava e ficava mais amarela. O mali estava empenhado em podar as flores inglesas, a maioria das quais tinha morrido, massacradas pelo excesso de luz do sol, e plantando balsaminas, cristas-de-galo e mais zínias. Uma hora se passou e um indiano tristonho cor de terra apareceu andando pelo caminho de entrada, envergando uma tanga sumária e um pagri rosa-salmão em que se equilibrava uma cesta de roupa. Pousou a cesta e fez uma reverência diante de Flory. “Quem é você?” “O wallah dos livros, sahib.” O wallah dos livros era um mascate itinerante que vendia livros vagando de posto em posto por toda a Alta Birmânia. Seu sistema era cobrar quatro annas e mais qualquer outro livro em troca de cada livro do seu estoque. Não exatamente outro livro qualquer, porque, embora analfabeto, ele aprendera a reconhecer e a recusar a Bíblia. “Não, sahib”, dizia em tom queixoso, “não. Este livro” (que revirava com ar de reprovação em suas mãos castanhas) “este livro com a capa preta e as letras douradas... este eu não posso aceitar. Não sei do que ele fala, mas todos os sahibs me oferecem este livro, e nenhum deles quer aceitar. Qual pode ser o problema deste livro preto? Deve ser alguma coisa maligna.” “Deixe eu ver o seu lixo”, disse Flory. E percorreu os livros à procura de um bom romance policial — Edgar Wallace, Agatha Christie ou algo parecido; qualquer coisa para acalmar o desassossego que lhe tomava o coração. Quando se debruçou sobre os livros, viu que os dois indianos exclamavam e apontavam para a entrada da floresta. “Dekho!”, disse o mali com sua voz de boca-de-ovo. Os dois cavalos emergiam da selva. Mas sem cavaleiro. Trotavam ladeira abaixo com o ar estúpido e culpado dos cavalos que fugiram do dono, com os estribos balançando e batendo na barriga. Flory continuou apertando sem perceber um dos livros contra o peito. Verrall e Elizabeth tinham desmontado. Não era um acidente; não havia como imaginar Verrall caindo de seu cavalo. Tinham desmontado e as montarias haviam fugido.
Tinham desmontado... para quê? Ah, mas ele sabia perfeitamente! Não era uma simples desconfiança; era certeza, ele sabia. Podia ver a coisa toda acontecendo, numa dessas alucinações tão perfeitas nos pormenores, tão ofensivamente obscenas, que se tornam insuportáveis. Jogou o livro no chão com violência e entrou em casa, deixando o wallah dos livros muito decepcionado. Os criados ficaram ouvindo seus passos enquanto andava de um lado para o outro pela casa, até pedir uma garrafa de uísque. Tomou uma dose, mas não lhe caiu bem. Em seguida, encheu dois terços de um copo, acrescentou água o suficiente para torná-lo tragável e engoliu tudo de uma vez. E assim que a dose enjoativa passou pela garganta, ele a repetiu. Fizera o mesmo no acampamento uma vez, anos antes, quando uma dor de dente o torturava a quinhentos quilômetros do dentista mais próximo. Às sete, como sempre, Ko S’la apareceu para lhe dizer que a água do banho estava quente. Flory estava estendido numa das espreguiçadeiras, sem o paletó e com a camisa aberta no pescoço. “Seu banho, thakin”, disse Ko S’la. Flory não respondeu, e Ko S’la tocou em seu braço, julgando que estivesse adormecido. Flory estava bêbado demais para se mexer. A garrafa vazia tinha rolado pelo chão, deixando um rastro de gotas de uísque. Ko S’la chamou Ba Pe e recuperou a garrafa, estalando a língua. “Olhe só para isto! Ele tomou mais de três quartos da garrafa!” “O quê? De novo? Achei que ele tinha parado de beber!” “É essa maldita mulher. Deve ser. Agora precisamos carregá-lo com cuidado. Você pega pelos pés, eu pego pelos ombros. Isso mesmo. Agora levante!” Carregaram Flory para o quarto ao lado e o estenderam gentilmente na cama. “Ele vai mesmo se casar com essa ‘Ingaleikma’?”, perguntou Ba Pe. “Só Deus sabe. Agora ela é amante do oficial da polícia, foi o que me disseram. Os costumes deles são diferentes dos nossos. Acho que sei o que ele vai querer hoje à noite”, acrescentou enquanto soltava os suspensórios de Flory — pois Ko S’la dominava a arte, tão necessária ao criado de um homem solteiro, de despir o patrão sem acordá-lo. Os criados ficaram satisfeitos de vê-lo retomar seus hábitos de solteirão. Flory acordou por volta do meio-dia, nu, no meio de uma poça de suor. Sua cabeça lhe dava a impressão de estar sendo golpeada de dentro para fora por algum objeto volumoso de metal cheio de arestas agudas. O mosquiteiro estava levantado e havia uma jovem sentada ao lado da cama abanando-o com um leque de palha. Tinha um belo rosto negróide, de uma cor de bronze quase dourada à luz das velas. Explicou que era uma prostituta e que Ko S’la tomara a iniciativa de contratá-la por dez rupias. A cabeça de Flory estava rachando. “Pelo amor de Deus, me arrume alguma coisa para beber”, disse com voz fraca para a mulher. Ela lhe trouxe um pouco da soda que Ko S’la já tinha refrescado antes, molhou uma toalha e pôs a compressa úmida em sua testa. Era uma criatura gorda e bondosa. Disse a Flory que se chamava Ma Sein
Galay e que, além de praticar seu ofício, também vendia cestas de arroz no bazar, perto da loja de Li Yeik. A cabeça de Flory começou a melhorar e ele pediu um cigarro, ao que Ma Sein Galay, depois de ir buscar o cigarro, perguntou em tom ingênuo: “Eu tiro a minha roupa agora, thakin?”. Por que não?, pensou ele de maneira indistinta. Abriu espaço para ela na cama, mas, quando sentiu o aroma familiar de alho e óleo de coco, alguma coisa dolorosa aconteceu dentro dele e, com a cabeça apoiada no ombro rechonchudo de Ma Sein Galay, começou a chorar de verdade, coisa que não lhe ocorria desde os quinze anos.
*
20. Na manhã seguinte, era grande a agitação em Kyauktada, porque a rebelião de que os boatos vinham falando finalmente irrompera. Na ocasião, Flory ouviu apenas um vago relato dela. Depois daquela noite de bebedeira voltara ao acampamento assim que se sentira capaz de caminhar, e foi só vários dias depois que soube da verdadeira história da revolta, numa carta longa e indignada do dr. Veraswami. O estilo epistolar do médico era estranho. Sua sintaxe era insegura e ele tomava liberdades de um sermonista do século XVII com as iniciais maiúsculas, enquanto rivalizava com a própria rainha Vitória em matéria de abuso do grifo. Eram oito páginas de uma caligrafia miúda mas esparramada.
MEU PREZADO AMIGO (dizia a carta), O senhor há de lamentar ouvir que os ardis do crocodilo maturaram. A rebelião — a suposta rebelião — acabou completamente, chegou ao fim. E foi, é uma pena! bem mais Sangrenta do que eu esperava que viesse a ser caso se concretizasse. Tudo se passou conforme lhe profetizei que seria. No dia em que o senhor voltou a Kyauktada, os espiões de U Po Kyin informaram a ele que os pobres infelizes que ele tinha Enganado estavam reunidos na floresta perto de Thongwa. Na mesma noite, ele se reuniu em segredo com U Lugale, o Inspetor de Polícia, um Patife tão grande quanto ele, e mais doze policiais. Fizeram um rápido ataque a Thongwa e pegaram os rebeldes de surpresa, que eram apenas Sete!!, numa cabana meio arruinada e perdida na selva. E o sr. Maxwell também, que tinha ouvido rumores sobre a rebelião, veio do seu Acampamento trazendo o seu Fuzil e chegou a tempo de se reunir a U Po Kyin e mais a polícia no seu ataque da cabana. Na manhã seguinte, o escrevente Ba Sein, que é o chacal que faz o serviço sujo para U Po Kyin, recebeu ordens de proclamar a rebelião com o maior Estardalhaço que pudesse, o que ele fez, e o sr. Macgregor, o sr. Westfield e o tenente Verrall vieram todos correndo para Thongwa trazendo cinqüenta cipaios armados de fuzis, além dos homens da Polícia Civil. Mas só chegaram para descobrir que estava tudo já acabado e encontrar U Po Kyin sentado debaixo de um imenso pé de teca no meio da aldeia com ar superior, passando sermão nos moradores, que respondiam com medo, curvados e encostando a testa no chão e jurando lealdade eterna ao governo, e a rebelião já terminada. O suposto weiksa, que na verdade é um mágico de circo e subordinado de U Po Kyin, desapareceu com destino ignorado, mas seis rebeldes foram Presos. E foi esse o fim. Também devo lhe informar que muito lamentavelmente um Falecimento aconteceu. O sr. Maxwell estava ansioso demais para usar o seu Fuzil, acho eu, e quando um dos rebeldes tentou fugir ele disparou e atingiu a vítima no abdômen, ao que ela morreu. Acho que os moradores da aldeia ficaram com
algum ressentimento do sr. Maxwell por causa disso. Mas do ponto de vista da lei está tudo bem para o sr. Maxwell, porque sem dúvida os homens estavam conspirando contra o governo. Ah, mas, meu Amigo, imagino que o senhor compreenda o quanto tudo isso pode ser calamitoso para mim! O senhor entende, acho eu, o que está em jogo nesse Concurso entre U Po Kyin e mim, e o grande impulso que ele deve ter recebido. É o triunfo do crocodilo. U Po Kyin transformou-se no Herói do distrito. Virou o preferido dos Europeus. Ouvi dizer que até o sr. Ellis elogiou o que ele fez. Se o senhor pudesse ver a abominável Falsidade e as mentiras que ele vem contando sobre a rebelião, dizendo que os rebeldes não eram sete, mas Duzentos!!, e como ele caiu em cima deles de revólver na mão — ele que estava dirigindo as ações de uma distância segura, enquanto a polícia e o sr. Maxwell cercavam a cabana —, o senhor ia achar tudo francamente Repelente, eu lhe garanto. E ele ainda teve o desplante de escrever um relatório oficial sobre o caso que começa assim: “Devido à presteza da minha lealdade e à minha destemida coragem...”, e ouvi dizer de fonte segura que ele já tinha mandado escrever esse Amontoado de mentiras dias antes do ocorrido. É uma coisa Nojenta. E pensar que agora, quando ele está no Auge do triunfo, ele continua a me caluniar com todo o veneno de que dispõe etc. etc.
Todo o armamento dos rebeldes fora capturado. O arsenal com que pretendiam marchar sobre Kyauktada quando reunissem todos os seguidores consistia do seguinte: Primeiro, uma espingarda com o cano esquerdo enguiçado, roubada de um Guarda-Florestal três anos antes. Segundo, seis armas de fabricação caseira com os canos feitos de tubos de zinco roubados do encanamento da ferrovia. Podiam ser disparadas, por assim dizer, enfiando-se um prego no ouvido do cartucho e batendo nele com uma pedra. Terceiro, trinta e nove cartuchos calibre doze. Quarto, onze armas falsas entalhadas em teca. Quinto, alguns fogos de artifício chineses que pretendiam disparar in terrorem. Mais tarde, dois rebeldes foram condenados a quinze anos de trabalhos forçados, três deles a três anos de prisão e a vinte e cinco chibatadas e um outro a dois anos de prisão. Toda a patética revolta chegara tão obviamente ao fim que ninguém achava que os europeus corressem qualquer perigo, e Maxwell voltou ao seu acampamento sem escolta. Flory decidiu continuar no seu acampamento até o começo das chuvas, ou pelo menos até a assembléia geral do Clube. Prometera comparecer, para propor a admissão do médico; embora a essa altura, com os seus próprios problemas a atormentá-lo, achasse muito tediosa toda aquela questão da intriga entre U Po Kyin e o médico indiano.
Mais semanas se arrastaram. O calor foi ficando terrível. As chuvas atrasadas davam a impressão de ter incendiado o ar como uma febre. Flory sentia-se indisposto, mas trabalhava sem parar, ocupando-se de pequenas tarefas que deveriam ser deixadas a cargo do supervisor, despertando o ódio dos coolies e até de seus criados. Tomava gim o tempo todo, mas nem mesmo a bebida agora o distraía. A visão de Elizabeth nos braços de Verrall o atormentava como uma nevralgia ou uma dor de ouvido. A todo momento ela o visitava, nítida e asquerosa, dispersando seus demais pensamentos, arrancando-o de volta da beira do sono, transformando a comida em terra em sua língua. Às vezes tinha acessos selvagens de raiva e numa ocasião chegou a bater em Ko S’la. O pior de tudo eram os detalhes — os pormenores sempre imundos — com que a cena imaginada se revelava. A perfeição dos detalhes parecia provar-lhe que era tudo verdade. Será que existe no mundo coisa mais torpe, mais desonrosa, do que desejar uma mulher que jamais se terá? Ao longo de todas essas semanas, quase não ocorria ao espírito de Flory nada que não fosse sangüinário ou obsceno. Eis um efeito comum do ciúme. Num primeiro momento ele votava a Elizabeth um amor espiritual, sentimental, aspirando mais por sua compreensão do que por suas carícias; mas agora, depois que a perdera, via-se atormentado pela ânsia física mais rasteira. E nem mesmo a idealizava mais. Ele a via quase como de fato era — tola, esnobe, desalmada —, porém isso em nada alterava o seu desejo por ela. Será que alguma vez altera? À noite, quando ficava acordado, levava a cama para fora da barraca para sentir menos calor, contemplava a escuridão aveludada na qual soava de tempos em tempos os latidos de um gyi e se odiava pelas imagens que habitavam sua mente. Era uma coisa vil, aquela inveja do homem que levara a melhor sobre ele. Porque era isso, apenas inveja — mesmo ciúme era um nome bom demais para aquele sentimento. Que direito ele tinha de sentir ciúme? Ele se oferecera para uma jovem que era bonita e jovem demais para ele, e ela o recusara — com toda a razão. Ela tivera a reação negativa que ele merecia. E não havia meios de apelar contra aquela decisão; não havia nada que lhe pudesse devolver a juventude ou remover a sua marca de nascença e a sua década de luxúria solitária. Só lhe restava observar de longe enquanto o vencedor ficava com ela, e invejá-lo, como... mas o símile nem era mencionável. A inveja é uma coisa horrível. Difere de todos os outros tipos de sofrimento porque não há como disfarçá-la, não há como promovê-la a tragédia. Mais que apenas dolorosa, ela nos causa asco. Mas enquanto isso, seria verdade o que ele suspeitava? Será que Verrall se tornara mesmo amante de Elizabeth? Não havia como saber, mas no fim das contas o mais provável era que não, pois, se assim fosse, não haveria como esconder o caso num lugar como Kyauktada. A sra. Lackersteen provavelmente teria percebido, mesmo que o fato escapasse aos demais. Uma coisa, porém, era certa: até aquele momento, Verrall ainda não fizera um pedido de casamento. Uma semana se passou, depois
duas, três; três semanas é um tempo muito longo num pequeno posto colonial indiano. Verrall e Elizabeth saíam juntos a cavalo todo fim de tarde; ainda assim, Verral nunca entrara na casa dos Lackersteen. O escândalo em torno de Elizabeth era interminável, naturalmente. Todos os orientais da cidade tinham certeza de que ela se tornara amante de Verrall. A versão de U Po Kyin (e ele sempre dava um jeito de ter razão no essencial, mesmo quando se enganava nos detalhes) era que Elizabeth tinha sido concubina de Flory e que o trocara por Verrall porque Verrall pagava melhor. Ellis também vinha inventando histórias sobre Elizabeth que deixavam o sr. Macgregor indignado. A sra. Lackersteen, por ser parente, era poupada desses comentários, mas estava ficando nervosa. Todo fim de tarde, quando Elizabeth voltava dos seus passeios a cavalo, ela ia esperançosa ao encontro da sobrinha, aguardando um “Oh, titia! Imagine só!”, e em seguida a grande notícia. Mas a notícia nunca chegava, e por mais que ela estudasse o rosto de Elizabeth com o maior cuidado, não conseguia adivinhar coisa alguma. Depois que três semanas se passaram, a sra. Lackersteen ficou irritada e por fim quase furiosa. A idéia de seu marido sozinho — ou, melhor dizendo, nada sozinho — no acampamento, a vinha incomodando. Afinal, ela o mandara de volta para o acampamento a fim de criar uma oportunidade para Elizabeth com Verrall (não que a sra. Lackersteen pusesse as coisas assim, de maneira tão vulgar). Uma noite, ela começou a advertir e ameaçar Elizabeth com seu modo indireto. A conversa consistiu num monólogo pontuado de suspiros com pausas longuíssimas, porque Elizabeth não lhe dava resposta alguma. A sra. Lackersteen começou com observações de ordem geral, suscitadas por uma fotografia que saíra na Tatler, mostrando essas jovens modernas e rápidas que andavam vestindo conjuntos de calças compridas e tudo o mais, e se mostrando tão oferecidas. Segundo a sra. Lackersteen, as moças nunca deviam deixar as coisas barato para os homens; mas como o contrário de “barato” seria “caro”, e isso tampouco soava bem, a sra. Lackersteen mudou sua linha de argumentação. Contou a Elizabeth sobre uma carta que recebera da Inglaterra com notícias daquela pobre moça que tinha vindo passar algum tempo na Birmânia e, tão estupidamente, deixara passar a oportunidade de um casamento. Seus sofrimentos tinham sido dilacerantes, o que demonstrava com clareza o quanto as jovens deviam sentir-se gratas quando conseguiam casar-se com alguém, literalmente qualquer um. Parece que aquela pobre jovem tinha perdido o emprego e estava quase passando fome havia algum tempo, e que agora ainda se vira obrigada a aceitar um trabalho como ajudante de cozinha sob as ordens de um cozinheiro repugnante que passava o tempo a atormentá-la das maneiras mais chocantes. E parece que as baratas da cozinha eram simplesmente inacreditáveis! Elizabeth estava entendendo como aquilo era pavoroso? Baratas! A sra. Lackersteen ficou em silêncio por algum tempo, para deixar que as baratas causassem impressão, antes de acrescentar:
“É mesmo uma pena que o senhor Verrall vá nos deixar assim que as chuvas chegarem. Kyauktada vai ficar tão vazia sem ele!” “E quando é que as chuvas costumam chegar?”, perguntou Elizabeth no tom mais indiferente que conseguiu produzir. “Por volta do início de junho, mais ou menos. Daqui a uma ou duas semanas... Minha querida, parece um absurdo tornar a tocar no assunto, mas não consigo tirar da cabeça a idéia daquela pobre moça presa na cozinha, rodeada de baratas!” E as baratas tornaram a aparecer mais de uma vez na conversa da sra. Lackersteen no decorrer daquela noite. E foi só no dia seguinte que ela observou, com o tom de alguém que transmite um mexerico sem importância: “Aliás, acho que Flory deve estar voltando a Kyauktada no início de junho. Disse que viria para a assembléia geral do Clube. Talvez devêssemos convidá-lo para jantar um dia.” Era a primeira vez que uma delas mencionava Flory, desde o dia em que ele trouxera a pele de leopardo para Elizabeth. Depois de ter sido virtualmente esquecido por várias semanas, ele ressurgira no espírito das duas mulheres, num deprimente pis aller. Três dias mais tarde, a sra. Lackersteen mandou um recado ao marido pedindo que ele voltasse a Kyauktada. Já estava no acampamento havia tempo suficiente para justificar um período curto na sede da empresa. Ele voltou, mais rubicundo do que nunca — era a insolação, explicou —, e tendo adquirido um tal tremor nas mãos que mal conseguia acender um cigarro. Ainda assim, naquela noite ele comemorou a volta dando um jeito de fazer a sra. Lackersteen sair de casa, invadindo o quarto de Elizabeth e promovendo uma vigorosa tentativa de estuprá-la. Durante todo esse tempo, sem que qualquer pessoa importante soubesse, uma nova rebelião estava em andamento. O weiksa (agora distante, vendendo a pedra filosofal a inocentes aldeões de Martaban) talvez tivesse feito o seu trabalho um pouco melhor que o esperado. De qualquer maneira, havia a possibilidade de novos distúrbios — alguns atentados infrutíferos e isolados, provavelmente. Nem mesmo U Po Kyin sabia de nada a respeito. Como de costume, porém, os deuses estavam do seu lado, pois qualquer nova rebelião faria a primeira parecer muito mais séria do que tinha sido, fazendo crescer assim a sua glória.
*
21. Ó vento Oeste, quando irás soprar, para que a chuva possa afinal chover? Era 1º de junho, o dia da assembléia geral, e ainda não chovera uma gota sequer. Enquanto Flory subia o caminho que levava ao Clube, o sol da tarde, enviesado a ponto de passar debaixo da aba de seu chapéu, ainda estava forte o suficiente para queimar seu pescoço desconfortavelmente. O mali vacilava pelo caminho, os músculos do peito encharcados de suor, carregando duas latas de querosene cheias de água pendendo de uma vara horizontal. Apoiou-as no chão, derramando um pouco de água em seus pés escuros e magros, e fez uma reverência para Flory. “E então, mali, a chuva vai chegar?” O homem fez um gesto vago apontando para o oeste. “Ficou presa nas montanhas, sahib.” Kyauktada era quase toda cercada de montanhas, e eram elas que recebiam as primeiras pancadas, de maneira que às vezes as chuvas só chegavam ali no final de junho. A terra dos canteiros, revolvida em grandes torrões irregulares, estava cinzenta e parecia cimento. Flory entrou no salão e encontrou Westfield descansando na varanda, olhando na direção do rio, porque as cercas de bambu tinham sido removidas. Ao pé da varanda, um chokra estava deitado de costas, estendido ao sol, puxando a corda do punkah com o calcanhar e protegendo o rosto com uma tira larga de folha de bananeira. “Olá, Flory! Você está tão magro, parece um ancinho!” “Você também emagreceu.” “É verdade. É o maldito clima. Não sinto nenhum apetite, só por bebida. Meu Deus, vou ficar muito feliz quando ouvir os sapos começarem a coaxar. Vamos tomar alguma coisa antes dos outros chegarem. Mordomo!” “Você sabe quem vem para a assembléia?”, perguntou Flory depois que o mordomo lhes trouxe uísque e soda morna. “Todo mundo, eu acho. Lackersteen voltou do acampamento há três dias. E está sofrendo o diabo nas mãos da mulher! O meu inspetor me contou as coisas que andaram acontecendo naquele acampamento. Vadias aos montes. Deve ter importado todas especialmente de Kyauktada. E o pior ele vai ouvir quando a mulher ficar sabendo do tamanho da conta do Clube. Onze garrafas entregues no acampamento em quinze dias.” “E o jovem Verrall, será que vem?” “Não, ele só é membro temporário. Não que ele tivesse qualquer escrúpulo em aparecer, o sujeitinho. Maxwell também não vem. Ainda não pode deixar o acampamento, diz ele. Mandou recado autorizando Ellis a votar por ele em caso de eleição. Mas não acredito que vá haver nada para se votar, não é?”, acrescentou ele, olhando de esguelha para Flory, porque os dois se lembravam perfeitamente da sua última discussão a respeito.
“Acho que depende de Macgregor.” “O que eu quero dizer é que Macgregor deve ter desistido dessa maldita asneira de querer admitir um membro nativo. Não é um bom momento para isso. Depois da rebelião, e tudo o mais.” “E como anda a rebelião, por falar nisso?”, perguntou Flory. Ainda não queria começar a defender a candidatura do médico. Já haveria problemas, e de sobra, dali a alguns minutos. “Alguma notícia nova? Será que eles vão fazer outra tentativa, na sua opinião?” “Não. Acho que está tudo acabado. Eles se acovardaram, como bons medrosos que são. O distrito anda mais sossegado que uma escola para moças. É uma decepção e tanto.” O coração de Flory deu um salto. Ele ouvira a voz de Elizabeth na sala ao lado. O sr. Macgregor entrou nesse momento, seguido por Ellis e pelo sr. Lackersteen. O que completou a cota, pois os membros femininos do Clube não votavam. O sr. Macgregor já trajava um terno de seda e carregava os livros de contabilidade do Clube debaixo do braço. Ele conseguia dar um ar oficial até mesmo a questões de menor importância, como uma assembléia do Clube. “Uma vez que parece que todos estão aqui”, começou ele depois dos cumprimentos habituais, “vamos logo, ah... dar início aos trabalhos?” “Vá em frente, Macduff”, disse Westfield, sentando-se. “Alguém chame o mordomo, pelo amor de Deus”, disse o sr. Lackersteen. “Não quero que a minha mulher me escute chamando por ele.” “Antes de começarmos a cuidar dos itens da agenda”, disse o sr. Macgregor depois de recusar uma bebida enquanto todos os outros aceitavam, “imagino que queiram que eu faça um relato das contas do último semestre?” Ninguém queria muito, mas o sr. Macgregor, que tinha enorme prazer nesse tipo de coisa, expôs as contas com grande minúcia. Os pensamentos de Flory vagavam. A celeuma iria ser tamanha dali a pouco — ah, uma celeuma dos diabos! Ficariam furiosos quando descobrissem que ele pretendia mesmo propor a candidatura do médico, no final das contas. E Elizabeth estava na sala ao lado. Que Deus não permitisse que ela escutasse, quando o tumulto ocorresse. Ela iria desprezá-lo mais ainda ao ver todos os outros alinhados contra ele. Será que ele conseguiria vê-la nesta noite? Será que ela iria falar com ele? Contemplou as centenas de metros de leito reluzente do rio. Na margem oposta, um grupo de homens, um deles usando um gaungbaung verde, esperava ao lado de uma sampana. No canal, perto da margem mais próxima, uma grande e desajeitada barcaça indiana lutava com uma lentidão desesperadora contra a rápida correnteza. A cada batida do tambor os dez remadores, dravidianos miseráveis, corriam para a frente e mergulhavam seus longos remos primitivos, com as pás em forma de coração, na água. Firmavam o corpo esquálido, puxavam, contraíam-se, faziam força para trás como criaturas agonizantes de borracha negra, e o casco imenso avançava um ou dois metros. Em seguida os
remadores corriam de novo para a frente, ofegantes, para mergulhar outra vez seus remos na água antes que a corrente empurrasse a barca para trás. “E agora”, disse o sr. Macgregor em tom mais grave, “chegamos ao ponto principal da agenda. Que é, como sabemos, esta questão, ahn... desagradável que, infelizmente, precisamos enfrentar, da admissão de um membro nativo a este Clube. Quando discutimos antes a questão...” “Mas que diabos!” Foi Ellis quem interrompeu. Estava tão agitado que se pusera de pé. “Que diabos! Não vamos começar de novo com essa história! Não vamos ficar falando de admitir um maldito negro no Clube, depois de tudo que aconteceu! Meu Deus, achei que até Flory já tinha desistido a esta altura!” “Nosso amigo Ellis parece surpreso. A questão já foi discutida antes, creio eu.” “Pois a maldita questão já foi mais que discutida antes! E todos deixamos claro qual era a nossa opinião. Por Deus...” “Se o nosso amigo Ellis quiser se sentar por um momento...”, disse o sr. Macgregor num tom tolerante. Ellis caiu sentado na cadeira, exclamando: “Malditas asneiras!”. Do outro lado do rio, Flory via os birmaneses embarcando. Carregavam uma forma comprida e desajeitada para bordo da sampana. O sr. Macgregor extraíra uma carta de sua pasta de papéis. “Talvez seja melhor eu explicar como essa questão surgiu. O comissário me disse que o governo enviou uma circular sugerindo que nos clubes onde não houvesse membros nativos pelo menos um fosse cooptado; a saber, automaticamente admitido. A circular diz... ah, sim! aqui está: ‘É um equívoco político afrontar socialmente funcionários nativos de alta posição’. Devo dizer que discordo de maneira enfática. Não há dúvida de que de todos nós discordamos. Nós, que estamos envolvidos no trabalho concreto do governo, vemos as coisas de modo bem diferente desses membros do Parlamento... ah... esclerosados, que insistem em interferir de cima para baixo no nosso trabalho. E o comissário concorda totalmente comigo. Ainda assim...” “Mas é tudo uma maldita asneira!”, interrompeu Ellis. “O que isso tem a ver com o Comissário ou com qualquer outra pessoa? Temos toda a liberdade de fazer o que quisermos no nosso maldito Clube, é ou não é? Ninguém de fora tem o direito de nos ditar o que devemos fazer.” “Sem dúvida”, disse Westfield. “Os senhores estão se antecipando. Eu disse ao comissário que iria submeter a questão aos demais membros do Clube. E o rumo que ele sugeriu foi o seguinte. Se a idéia encontrar algum apoio no Clube, ele acha que seria melhor convidarmos logo o nosso membro nativo. Por outro lado, se todo o Clube for contrário, podemos desistir. Quer dizer, se houver unanimidade.”
“Ora, sem dúvida que há unanimidade”, disse Ellis. “Quer dizer”, disse Westfield, “que só depende de nós aceitar ou não um deles no Clube?” “Acho que podemos dizer que sim.” “Ora, então vamos logo dizer que somos todos contrários à idéia, e pronto.” “E com toda a firmeza, por Deus. Queremos enterrar essa idéia de uma vez por todas.” “Muito bem!”, disse o sr. Lackersteen em voz rouca. “Vamos deixar a negrada de fora. Esprit de corps, e tudo o mais.” Sempre se podia contar com o sr. Lackersteen para expor o sentimento correto em casos como esse. No fundo ele não dava a mínima, nem nunca tinha dado, ao Império Britânico na Índia, e ficava tão satisfeito de beber com um oriental quanto com um branco; mas estava sempre disposto a emitir um “muito bem!” em voz alta quando alguém sugeria uma sova de bambu em criados desrespeitosos ou um mergulho em óleo fervente para os nacionalistas. Orgulhava-se da sua lealdade, ora bolas, apesar de beber um pouco e tudo o mais. Era a sua forma de respeitabilidade. Secretamente, o sr. Macgregor ficou muito aliviado com a concordância geral. Se algum membro oriental fosse cooptado, haveria de ser o dr. Veraswami, e ele nutria uma profunda desconfiança em relação ao médico desde a fuga suspeita de Nga Shwe O da cadeia. “Então estamos todos de acordo?”, perguntou ele. “Sendo assim, vou informar ao comissário. De outro modo, precisaremos discutir quem será o indicado.” Flory levantou-se. Precisava fazer a sua declaração. Seu coração parecia ter subido à garganta, provocando-lhe um engasgo. Pelo que o sr. Macgregor dissera, ficara bem claro que ele tinha o poder de garantir a escolha do médico, se falasse a favor dele. Mas, ah, como era desagradável, como era aborrecido! Que celeuma infernal aquilo iria causar! Como ele desejava não ter feito aquela promessa ao médico! Agora não adiantava, tinha dado a sua palavra e não podia deixar de cumpri-la. Muito pouco tempo antes, ele teria quebrado a sua promesa sem o menor problema, en bon pukka sahib. Mas não agora. Precisava levar aquilo até o fim. Virou-se de perfil, de modo a esconder a marca de nascença dos demais. Já sentia a voz assumir um tom inexpressivo e culpado. “Nosso amigo Flory tem alguma coisa a sugerir?” “Tenho. Quero indicar o doutor Veraswami para membro deste Clube.” Veio um tal alarido de desânimo dos três outros homens que o sr. Macgregor precisou bater com força na mesa para lembrar-lhes que as senhoras estavam na sala ao lado. Ellis não lhe deu ouvidos. Tornara a levantar-se, e a pele em torno de seu nariz ficara notavelmente cinzenta. Ele e Flory ficaram se encarando, como se a ponto de começarem a trocar socos. “Ora, seu maldito traidor, vai retirar o que disse?” “Não, não vou.”
“Seu porco nojento! Amiguinho dos negros! Seu desgraçado rasteiro, traidor, maldito de m...” “Ordem!”, exclamou Macgregor. “Mas olhe só para ele, olhe só!”, gritou Ellis quase em lágrimas. “Criando todo esse problema para nós só por causa de um negrinho pançudo! Depois de tudo que dissemos! Quando bastava ficarmos juntos para manter este Clube livre do cheiro de alho para sempre! Meu Deus, vocês não têm vontade de vomitar ao ver alguém se comportar assim, como um...?” “Retire o que disse, Flory, meu velho!”, sugeriu Westfield. “Não seja idiota!” “É bolchevismo declarado, isso sim!”, exclamou o sr. Lackersteen. “E vocês acham que eu me incomodo com o que vocês dizem? Vocês não decidem nada. Macgregor é quem resolve.” “Quer dizer que o senhor, ah... mantém o que disse?”, perguntou o sr. Macgregor em tom sombrio. “Mantenho.” O sr. Macgregor suspirou. “É uma pena! Neste caso, acho que não tenho escolha...” “Não, não, não!”, gritou Ellis, pulando de raiva. “Não vá ceder a ele! Ponha em votação. E se esse filho-da-mãe não der bola preta como todos os outros, primeiro expulsamos ele também do Clube e depois... bem! Mordomo!” “Sahib!”, respondeu o mordomo, aparecendo. “Traga a caixa de votação, e as bolas. E suma daqui!”, acrescentou rudemente depois que o mordomo cumpriu as instruções. O ar ficara estagnado; por algum motivo o punkah tinha parado de funcionar. O sr. Macgregor se levantou com expressão judicial mas reprovadora no semblante, retirando as duas gavetas, de bolas brancas e pretas, da caixa de votação. “Precisamos proceder da maneira correta. O senhor Flory indica o doutor Veraswami, o cirurgião civil, para membro deste Clube. Um engano, na minha opinião, um grande engano; ainda assim...! Antes de submeter a proposta a votação...” “Ora, por que tanta história?”, perguntou Ellis. “A minha contribuição é esta. E mais uma, em nome de Maxwell.” E jogou duas bolas pretas dentro da caixa. Depois, tomado por um dos seus espasmos súbitos de raiva, pegou a gaveta de bolas brancas e atirou-as no chão. Saíram voando para todo lado. “Pronto! Agora quem quiser que rasteje para pegar a sua!” “Seu grande idiota! Você acha que isso ajuda em alguma coisa?” “Sahib!” Todos se sobressaltaram e levantaram os olhos. O chokra olhava para eles de olhos arregalados por cima da balaustrada da varanda, à qual subira. Com um braço magro se agarrava a ela e com o outro gesticulava na direção do rio.
“Sahib! Sahib!” “O que foi?”, perguntou Westfield. Todos foram até a janela. A sampana que Flory tinha visto do outro lado do rio estava encostada na margem de cá, ao pé do gramado do clube, com um dos homens agarrado a um arbusto para mantê-la parada. O birmanês de gaungbaung verde estava desembarcando. “É um dos guardas-florestais de Maxwell!”, disse Ellis com uma voz muito diferente. “Meu Deus! Deve ter acontecido alguma coisa!” O Guarda-Florestal viu o sr. Macgregor, fez uma reverência rápida com ar preocupado e virou-se de volta para a sampana. Quatro outros homens, camponeses, desceram do barco atrás dele e com dificuldade trouxeram para a margem o estranho pacote que Flory avistara à distância. Tinha quase dois metros, todo envolto em panos, como uma múmia. Alguma coisa se remexeu nas entranhas de todos. O Guarda-Florestal olhou para a varanda, viu que não havia escada para subir e conduziu os camponeses para a entrada, do outro lado do Clube. Tinham levantado o pacote nos ombros, como quem carrega um caixão num funeral. O mordomo voltara a entrar no salão, e até seu rosto de certo modo estava pálido — melhor dizendo, cor de cinza. “Mordomo!”, chamou o sr. Macgregor em tom brusco. “Pois não!” “Vá depressa fechar a porta do salão de jogos. E a mantenha fechada. Não deixe as memsahibs entrarem aqui.” “Sim, senhor Macgregor.” Os birmaneses caminhavam lentamente com seu fardo pela passagem. Enquanto entravam, o homem que vinha à frente cambaleou e quase caiu; tinha escorregado numa das bolas brancas espalhadas pelo piso. Os birmaneses se ajoelharam, baixaram a carga no chão e ficaram alinhados junto a ela com um estranho ar de reverência, levemente inclinados, as mãos juntas. Westfield caíra de joelhos e abrira os panos. “Meu Deus! Olhem só para ele!”, disse, mas sem muita surpresa. “Olhem só como ficou o pobre filho-da-p... coitado!” O sr. Lackersteen recuara para a outra extremidade da sala, com um gemido. Do momento em que o pacote tinha sido desembarcado, todos sabiam o que continha. Era o corpo de Maxwell, quase despedaçado a golpes de dah por dois parentes do homem que ele matara com um tiro.
*
22. A morte de Maxwell causara um choque profundo em Kyauktada. Causaria um grande choque também em toda a Birmânia, e o caso — “o caso de Kyauktada, lembra?” — continuaria sendo comentado anos depois, mesmo após o nome da pobre e jovem vítima ter sido esquecido. Do ponto de vista estritamente pessoal, porém, ninguém ficou muito perturbado. Maxwell era uma espécie de não-entidade — só mais um “bom sujeito”, como qualquer daqueles dez mil bons sujeitos ex colore da Birmânia — e não tinha nenhum amigo mais próximo. Nenhum dos europeus ficou genuinamente abalado com a sua morte. O que não significa que não tenham ficado furiosos. No primeiro momento, quase enlouqueceram de raiva. Porque o imperdoável havia acontecido — um branco tinha sido assassinado. Quando isso acontece, uma espécie de calafrio percorre o corpo de todo inglês no Oriente. Oitocentas pessoas, possivelmente, eram assassinadas todos os anos na Birmânia; elas não significavam nada; mas o assassinato de um único branco era uma monstruosidade, um sacrilégio. O pobre Maxwell precisava ser vingado, sem a menor dúvida. Mas só um criado ou dois, além do Guarda-Florestal que trouxera seu corpo, e que gostava dele, derramaram alguma lágrima por sua morte. Por outro lado, ninguém ficou satisfeito com aquilo, à exceção de U Po Kyin. “Foi um presente dos céus!”, disse ele a Ma Kin. “Nem eu poderia ter planejado melhor. A única coisa que me faltava para que eles levassem a minha rebelião a sério era um pouco de sangue derramado. E pronto! Vou lhe dizer uma coisa, Kin Kin, cada dia eu fico mais convencido de que um poder mais alto trabalha a meu favor!” “Ko Po Kyin, você não tem mesmo nenhuma vergonha! Não sei como tem coragem de dizer essas coisas. Não fica com medo de carregar o peso de um assassinato na alma?” “O quê? O peso de um assassinato? Do que você está falando? Nunca matei nem uma galinha na minha vida.” “Mas você está tirando vantagem da morte desse pobre rapaz.” “Vantagem? É claro que estou tirando vantagem! E por que não, afinal? E é culpa minha que outra pessoa tenha resolvido cometer um assassinato? O pescador pega o peixe e é amaldiçoado por isso. Mas nós temos de ser também amaldiçoados por comer o peixe? Claro que não. E por que deixar de comer o peixe, se afinal ele já está morto? Você devia ler as escrituras com mais cuidado, minha querida Kin Kin.” O funeral ocorreu no dia seguinte, antes do café-da-manhã. Todos os europeus compareceram, exceto Verrall, que dava os seus costumeiros galopes pelo maidan, quase em frente ao cemitério. O sr. Macgregor conduziu a cerimônia. O pequeno grupo de ingleses se acotovelava em torno do túmulo, com os topis na mão, suando dentro do terno escuro que tinham desencavado do fundo dos armários. A luz crua da manhã atingia impiedosa seus rostos, mais amarelos do que nunca acima das roupas
feias e amassadas. Todos os rostos, menos o de Elizabeth, pareciam velhos e enrugados. O dr. Veraswami e meia dúzia de outros orientais estavam presentes, mas mantinham-se respeitosamente ao fundo. Havia dezesseis pedras tumulares no pequeno cemitério; assistentes de empresas madeireiras, funcionários, soldados mortos em escaramuças esquecidas. “Consagrado à memória de John Henry Spagnall, da Polícia Imperial Indiana, ceifado pelo cólera no exercício impecável” etc. etc. etc. Flory se lembrava vagamente de Spagnall. Morrera de repente no acampamento depois de seu segundo ataque de delirium tremens. Num canto ficavam alguns túmulos de eurasianos, com cruzes de madeira. A trepadeira de jasmim, com pequenas flores alaranjadas em forma de coração, tomara conta de tudo. Em meio a seus ramos, túneis de tamanho impressionante se afundavam, servindo de passagem aos ratos até as sepulturas. O sr. Macgregor concluiu o serviço fúnebre com uma voz profunda e reverente, e deixou o cemitério à frente da congregação, carregando o seu topi cinzento — o equivalente oriental de uma cartola — apoiado na barriga. Flory permaneceu algum tempo perto do portão, na esperança de que Elizabeth falasse com ele, mas ela passou sem nem mesmo olhá-lo. Todos o ignoravam. Tinha caído em desgraça; à luz do assassinato, a sua deslealdade da noite anterior parecia de certo modo horrível. Ellis pegara Westfield pelo braço, e os dois pararam ao lado da sepultura, sacando a cigarreira. Flory ouvia suas vozes grosseiras vindo do outro lado da cova descoberta. “Meu Deus, Westfield, meu Deus, quando eu penso no pobre idiota estendido aqui... ah, meu Deus, o meu sangue ferve nas veias! Passei a noite inteira sem dormir, de tanta raiva.” “Uma desgraça mesmo. Mas pode deixar, eu lhe garanto que pelo menos duas pessoas vão balançar na corda por causa disso. Dois corpos contra o que eles produziram — é o melhor a fazer no caso.” “Dois!? Deviam ser cinqüenta! Devíamos fazer o diabo para conseguir enforcar esses sujeitos. Já conseguiu o nome deles?” “Já. Todo mundo no maldito distrito sabe quem são. Nós sempre sabemos quem são os culpados nesses casos. O diabo é fazer o povo dessas aldeias falar — é a única dificuldade.” “Ora, pelo amor de Deus, veja se desta vez consegue fazer essa gente falar. E dane-se a maldita lei. Dê-lhes uma sova, se for o caso. Ou torture os desgraçados, qualquer coisa. Se quiser comprar alguma testemunha, estou às suas ordens por cem pratas.” Westfield suspirou. “Infelizmente, esse tipo de coisa eu não posso fazer. Quem me dera. Os meus homens bem que sabem arrancar a verdade de uma testemunha, se a gente deixar. Amarram o sujeito num formigueiro. Usam pimenta. Mas hoje em dia isso não funciona mais. Precisamos cumprir as malditas leis idiotas. Mas pode deixar, esses sujeitos vão dançar na ponta da corda. Já temos todas as provas
necessárias.” “Bom! E depois de prender os dois, se não tiver certeza de que vão ser condenados, atire neles, passe fogo nos dois sem dó nem piedade! Faça de conta que tentaram fugir ou coisa assim. Tudo, menos deixar esses filhos-da-p... fugir!” “Eles não vão fugir, não se preocupe. Vamos pegá-los. Vamos pegar alguém, pelo menos. Melhor enforcar o sujeito errado do que não enforcar ninguém”, acrescentou, sem saber que estava citando Dickens. “Exatamente! Só voltarei a dormir tranqüilo depois desse enforcamento”, disse Ellis enquanto se afastavam da cova. “Meu Deus! Vamos sair deste sol! Estou morrendo de sede!” Todo mundo estava mais ou menos morrendo de sede, mas não parecia lá muito apropriado dirigir-se ao Clube para beber logo depois do funeral. Os europeus se espalharam, cada um tomando o rumo de casa, enquanto quatro coveiros com mamooties jogavam a terra cinza, lembrando cimento, de volta para dentro da cova, à qual deram a forma aproximada de um monte. Depois do café-da-manhã, Ellis seguiu para o seu escritório, de bengala na mão. Fazia um calor ofuscante. Ellis tomara um banho e vestira uma camisa e calças curtas, mas ter usado um terno grosso ainda que só por uma hora lhe provocara brotoejas abomináveis. Westfield já tinha saído, em sua lancha a motor, com um inspetor e meia dúzia de homens, para prender os assassinos. Dera ordens a Verrall para acompanhá-lo — não que Verrall fosse necessário, mas, como disse Westfield, talvez fizesse bem ao rapaz trabalhar um pouco uma vez na vida. Ellis balançou os ombros — as brotoejas estavam quase insuportáveis. A raiva cozinhava em seu corpo como um caldo amargo. Ele passara a noite cismando com o que tinha acontecido. Haviam matado um homem branco, matado um homem branco, os canalhas, os cachorros covardes! Ah, os porcos, os porcos, eles iam ter de sofrer muito para pagar por aquilo! Por que tínhamos criado aquelas malditas leis de luvas de pelica? Por que aceitávamos tudo de cabeça baixa? Imagine se uma coisa dessas tivesse acontecido numa colônia alemã antes da Guerra! Os bons e velhos alemães! Esses, sim, sabiam como tratar os negros. Represálias! Chicotes de couro de rinoceronte! Atacar as aldeias, matar os rebanhos, incendiar plantações, dizimar tribos inteiras, amarrar homens vivos à boca dos canhões e abrir fogo. Ellis contemplou as horríveis cascatas de luz que escorriam pelas aberturas nas copas das árvores. Seus olhos verdes estavam grandes e pesarosos. Um birmanês gentil de meia-idade se aproximou, equilibrando um bambu imenso, que transferiu com um gemido de um ombro para o outro ao passar por Ellis. Ellis segurou a bengala com mais força. Se aquele porco, agora, ousasse atacá-lo! Ou mesmo emitir algum insulto — qualquer coisa, contanto que lhe desse o direito de espancá-lo! Se pelo menos aqueles cães covardes tivessem a coragem de lutar de algum modo! Em vez de simplesmente passar perto de você, sempre obedecendo à lei, para nunca lhe
dar uma oportunidade de atacar de volta. Ah, se pelo menos ocorresse uma rebelião de verdade — proclamação da lei marcial, nenhuma clemência com os inimigos! Imagens deliciosas e sangüinárias desfilaram por sua mente. Pilhas de nativos aos gritos sendo massacrados por soldados ingleses. Aos tiros, aos pontapés, pisoteados pelos cascos dos cavalos, desentranhados, com os rostos retalhados pelo chicote! Cinco rapazes da escola secundária vinham descendo a estrada lado a lado. Ellis os viu se aproximar, uma fileira de rostos amarelos contorcidos pela malícia — rostos epicenos, horrivelmente jovens e glabros, sorrindo para ele com uma insolência deliberada. Tinham a intenção evidente de provocá-lo só porque era branco. É provável que tivessem ouvido falar do assassinato e, sendo nacionalistas, como todos os estudantes, considerassem que aquilo tinha sido uma vitória. Sorriram bem na cara de Ellis quando passaram por ele. Tentavam desafiá-lo abertamente e sabiam que a lei estava do lado deles. Ellis sentiu o peito inchar. Aquela expressão na cara dos estudantes, zombando dele como uma fileira de ícones amarelos, era de enlouquecer. Ele parou bruscamente. “Escutem aqui. Do que vocês estão rindo, seus patifes?” Os rapazes se viraram. “Eu perguntei de que diabos vocês estão rindo.” Um dos rapazes respondeu em tom insolente — mas talvez o seu inglês ruim é que o fez parecer mais insolente do que pretendia: “Não é da sua conta.” Passou-se um segundo, durante o qual Ellis não soube o que estava fazendo. Naquele segundo, ele desferiu um golpe com toda a força, e a bengala atingiu o rapaz, crás!, bem nos olhos. O rapaz recuou com um grito, e no mesmo instante os outros quatro se atiraram sobre Ellis. Mas ele era forte demais para os jovens. Jogou-os para um lado e pulou para trás, brandindo a bengala com tamanha fúria que nenhum deles ousava se aproximar. “Não se aproximem, seus filhos-da...! Se alguém se aproximar, juro que arrebento mais um!” Embora fossem quatro contra um, ele era um adversário tão impressionante que eles recuaram assustados. O rapaz atingido caíra de joelhos com os braços cobrindo o rosto e gritava: “Estou cego! Estou cego!”. De repente, os outros quatro viraram-se e correram em direção a uma pilha de laterita, usada para o reparo de estradas, a cerca de vinte metros de onde estavam. Um dos empregados de Ellis aparecera na varanda do escritório e dava saltos agitados. “Suba logo, senhor Ellis! Suba logo! Eles vão matá-lo!” Ellis recusou-se a sair correndo, mas foi andando na direção dos degraus da varanda. Uma pedra veio voando pelo ar e se espatifou contra um dos pilares da casa, enquanto o funcionário se refugiava longe da janela. Ellis, porém, virou-se na varanda para fazer frente aos rapazes, que estavam mais abaixo, cada um carregando uma braçada de laterita. Ele ria, deliciado.
“Seus negrinhos sujos malditos!”, gritou para eles. “Desta vez foi uma surpresa, não foi? Por que vocês não vêm aqui na varanda brigar comigo, os quatro? Não têm coragem. Quatro contra um e nem assim têm a coragem de me enfrentar! E ainda dizem que são homens! São uns ratos, covardes e sarnentos!” Começou a falar birmanês, chamando-os de filhos incestuosos de uma porca. O tempo todo eles o alvejavam com pedaços de laterita, mas seus braços eram fracos e eles, maus arremessadores. Ellis se desviava das pedras, e a cada uma que deixava de atingi-lo soltava uma risada triunfal. Em seguida, houve gritos na estrada, o tumulto tinha sido ouvido na delegacia de polícia e alguns policiais tinham surgido para ver o que estava havendo. Os rapazes se assustaram e saíram correndo, deixando Ellis saborear uma vitória completa. Ellis tinha adorado a escaramuça, mas ficou furioso assim que ela acabou. Escreveu um bilhete violento ao sr. Macgregor, dizendo-lhe que fora gratuitamente agredido e exigindo vingança. Dois empregados que tinham testemunhado a cena e uma chaprassi foram mandados ao gabinete do sr. Macgregor para corroborar a história. E mentiram em perfeito uníssono. “Os rapazes atacaram o senhor Ellis sem nenhum motivo ou provocação, e ele só se defendeu” etc. etc. É provável que Ellis, justiça seja feita, acreditasse que essa era a versão verdadeira dos fatos. O sr. Macgregor ficou um tanto perturbado e determinou que a polícia encontrasse e interrogasse os quatro estudantes. Os rapazes, porém, já esperando alguma coisa do gênero, tinham praticamente desaparecido; a polícia vasculhou o bazar o dia inteiro e não os encontrou. À noite, o rapaz ferido foi levado a um médico birmanês que, ao aplicar um preparado venenoso de folhas esmagadas ao seu olho esquerdo, conseguiu deixá-lo cego. Como de hábito, os europeus se reuniram no Clube naquela noite, exceto Westfield e Verrall, que ainda não tinham voltado. Todos estavam de péssimo humor. Vindo logo depois do assassinato, a agressão gratuita a Ellis (pois fora essa a descrição aceita por todos) os tinha deixado assustados e irritados. A sra. Lackersteen repetia variações sobre o tema “Vamos ser todos assassinados na cama”. O sr. Macgregor, para reconfortá-la, contou-lhe que em caso de revolta as senhoras européias eram sempre trancadas na cadeia até o fim do tumulto; mas ela não pareceu muito reconfortada. Ellis tratou Flory de modo ofensivo e Elizabeth quase o ignorou por completo. Ele fora ao Clube na esperança insensata de fazer as pazes com ela, mas o comportamento da jovem o deixou tão infeliz que ele passou a maior parte da noite refugiado em silêncio na biblioteca. Foi só às oito da noite, depois que todos já tinham tomado várias doses de bebida, que a atmosfera ficou um pouco mais amistosa e Ellis disse: “Que tal mandarmos uns chokras correrem até nossa casa e trazerem o jantar para cá? Bem que podíamos jogar umas rodadas de bridge. Melhor do que ficar cismando em casa.”
A sra. Lackersteen, que estava atemorizada de ir para casa, adorou a sugestão. Os europeus às vezes jantavam no Clube quando queriam ficar por lá até mais tarde. Dois chokras foram chamados, e quando lhes explicaram o que queriam deles, começaram a chorar. Ao que tudo indicava, se subissem a ladeira iriam certamente deparar com o fantasma de Maxwell. Tiveram de mandar o mali no lugar deles. Assim que ele saiu, Flory percebeu que era noite de lua cheia outra vez — quatro semanas desde aquela noite, agora tão incrivelmente distante, em que beijara Elizabeth debaixo do jasmineiro. Tinham acabado de se sentar à mesa de bridge e a sra. Lackersteen acabado de perder um leilão por puro nervosismo, quando ouviram uma pancada surda no telhado. Todos se assustaram e olharam para cima. “Um coco caindo!”, disse o sr. Macgregor. “Não temos nenhum coqueiro por aqui”, disse Ellis. No minuto seguinte, várias coisas aconteceram ao mesmo tempo. Ouviram um estrondo muito mais alto, um dos lampiões soltou-se do gancho e se espatifou no chão, quase atingindo o sr. Lackersteen, que pulou de lado com um gritinho, a sra. Lackersteen começou a berrar e o mordomo entrou correndo no salão de cabeça descoberta e com o rosto da cor de café aguado. “Senhores, senhores, homens maus vindo! Vão matar todos nós!” “O quê? Homens maus? Do que você está falando?” “Os moradores da aldeia estão todos aí fora! Com paus e dahs nas mãos, e pulando de um lado para o outro! Querem cortar o pescoço dos senhores!” A sra. Lackersteen deixou-se cair de costas na cadeira. Tentava produzir com seus gritos um volume suficiente para abafar as palavras do mordomo. “Ora, cale a boca!”, disse Ellis em tom brusco, dirigindo-se a ela. “Escutem, vocês todos! Escutem aqui!” Ouvia-se um som profundo, murmurante e ameaçador do lado de fora, como que produzido por um gigante furioso que cantasse de boca fechada. O sr. Macgregor, que se erguera, enrijeceu ao ouvir aquilo, e ajustou belicosamente os óculos no nariz. “Isto deve ser algum distúrbio! Mordomo, pegue aquele lampião. Senhorita Lackersteen, cuide da sua tia. Vá olhar se ela está ferida. O resto de vocês, venham comigo!” Todos se encaminharam para a porta da frente, que alguém, presumivelmente o mordomo, tinha fechado. Uma fuzilaria de pedras menores chocava-se contra ela, como granizo. O sr. Lackersteen hesitou ao ouvir o som e refugiou-se atrás dos outros. “Ora, maldição, alguém me faça o favor de trancar esta porta dos diabos!”, disse ele. “Não, não!”, disse o sr. Macgregor. “Precisamos sair. Deixar de enfrentá-los será fatal!” Ele abriu a porta e apresentou-se corajosamente no alto da escada. Havia cerca de
vinte birmaneses no caminho, com dahs ou pedaços de pau na mão. Do lado de fora da cerca, estendendo-se ladeira acima em todas as direções e pelo maidan adentro, havia uma multidão. Parecia um mar de gente, pelo menos duas mil pessoas, em preto-e-branco à luz da lua, vendo-se aqui e ali a cintilação curva da lâmina de um dah. Ellis postara-se calmamente ao lado do sr. Macgregor, com as mãos nos bolsos. O sr. Lackersteen tinha desaparecido. O sr. Macgregor ergueu a mão pedindo silêncio. “O que significa isto?”, gritou em tom severo. Ouviram-se berros e alguns pedaços de laterita do tamanho de bolas de cricket foram atirados da estrada, mas felizmente não atingiram ninguém. Um dos homens postados no caminho virou-se e abanou os braços para os outros, gritando que ainda não era para começarem a atirar as pedras. Em seguida, deu um passo à frente a fim de dirigir-se aos europeus. Era um sujeito forte e sacudido de uns trinta anos, com grandes bigodes curvados para baixo; usava uma camiseta, com o longyi amarrado na altura do joelho. “O que significa isto?”, repetiu o sr. Macgregor. O homem respondeu com um sorriso animado e não muito insolente. “Não temos nenhuma diferença com o senhor, min gyi. Viemos por causa do mercador de madeira, Ellis.” (Pronunciava Ellit.) “O rapaz que ele atacou hoje de manhã ficou cego. O senhor precisa nos entregar Ellit para podermos dar-lhe o castigo merecido. O resto de vocês não vai sofrer nada.” “Lembre-se bem da cara desse sujeito”, disse Ellis a Flory por cima do ombro. “Mais tarde, nós o faremos pegar sete anos só por isto.” O sr. Macgregor ficara temporariamente muito vermelho. Sua raiva era tamanha que ele quase sufocava. Por vários minutos não conseguiu falar, e quando falou foi em inglês. “Com quem você pensa que está falando? Em vinte anos, nunca ouvi tamanha insolência! Vá embora agora mesmo, ou chamo a Polícia Militar!” “Então precisa se apressar, min gyi. Sabemos que a justiça dos seus tribunais nunca funciona para nós, por isso nós mesmos precisamos castigar Ellit. Entregue-o para nós aqui. Caso contrário, todos vocês vão sofrer por isso.” O sr. Macgregor fez um gesto furioso com o punho, como se martelasse um prego. “Vá embora, filho de um cão!”, gritou, usando seu primeiro insulto em muitos anos. Ouviu-se um rugido poderoso vindo da estrada e voou uma tamanha chuva de pedras que todos foram atingidos, inclusive os birmaneses do caminho. Uma das pedras acertou o sr. Macgregor em pleno rosto e quase o derrubou no chão. Os europeus se apressaram em voltar para dentro e fizeram uma barricada na porta. Os óculos do sr. Macgregor tinham-se espatifado e do seu nariz jorrava sangue. Voltaram para o salão e lá encontraram a sra. Lackersteen dando voltas em torno de uma das poltronas como uma cobra histérica, o sr. Lackersteen de pé sem saber o
que fazer no meio da sala com uma garrafa vazia nas mãos, o mordomo de joelhos num canto, fazendo o sinal-da-cruz (era católico), os chokras chorando e só Elizabeth mais calma, embora muito pálida. “O que aconteceu?”, exclamou ela. “Estamos fritos, eis o que aconteceu!”, respondeu Ellis furioso, apalpando a nuca, atingida por uma pedra. “Os birmaneses cercaram tudo e estão jogando pedras. Mas fique calma! Eles não têm coragem para arrombar as portas.” “Chamem a polícia agora mesmo!”, disse o sr. Macgregor sem muita clareza, pois estava estancando o sangue do nariz com o lenço. “Não podemos!”, disse Ellis. “Eu olhei em volta enquanto o senhor conversava com eles. Eles nos cercaram completamente, os malditos, que apodreçam no inferno! Ninguém conseguiria chegar ao destacamento da polícia. O terreno de Veraswami está cheio de homens.” “Então precisamos esperar. Eles certamente vão acabar decidindo ir embora por conta própria. Acalme-se, minha cara senhora Lackersteen, por favor, queira se acalmar! O perigo é muito pouco.” Não era o que parecia. A essa altura, o barulho era contínuo e tinha-se a impressão de que os birmaneses invadiam os terrenos do Clube às centenas. A certa altura, o rumor foi crescendo a tal volume que ninguém conseguia mais ser ouvido, a menos que falasse aos berros. Todas as janelas do salão tinham sido fechadas e algumas persianas de zinco perfurado, de encaixe interno e às vezes usadas para evitar a entrada de insetos, foram presas às janelas por ferrolhos. Ouviu-se uma série de janelas sendo quebradas e, em seguida, golpes incessantes de pedras vindas de todos os lados, atingindo as paredes finas de madeira e dando a impressão de quase rachálas. Ellis abriu uma das persianas e jogou uma garrafa com força na multidão, mas uma dúzia de pedras entrou em resposta e ele precisou fechar a persiana às pressas. Os birmaneses davam a impressão de não terem outro plano além de atirar pedras, gritar e esmurrar as paredes, mas o mero volume do barulho que produziam era inquietante. Os europeus ficaram inicialmente um tanto desorientados. Não ocorreu a nenhum deles culpar Ellis, o único causador do episódio; o risco que corriam juntos parecia, na verdade, tê-los deixado ainda mais próximos. O sr. Macgregor, meio cego sem os óculos, estava de pé no meio da sala, com a mão direita estendida para a sra. Lackersteen, que a acariciava, enquanto um chokra aos prantos se agarrava à sua perna esquerda. O sr. Lackersteen tornara a desaparecer. Ellis caminhava furioso de um lado para o outro, pisando duro, sacudindo os punhos na direção do destacamento da polícia. “Onde está a polícia, onde estão os cretinos, covardes, filhos-da-p...?”, berrava ele, sem atentar à presença das mulheres. “Por que não aparecem logo? Meu Deus, não vamos ter uma oportunidade como esta nos próximos cem anos! Se pelo menos tivéssemos uns dez fuzis aqui, podíamos dar cabo desses desgraçados!” “Eles vão chegar logo!”, gritou em resposta o sr. Macgregor. “Precisam de algum
tempo para atravessar a multidão.” “Mas por que não abrem fogo de uma vez, os desgraçados? Podiam massacrar essa gente aos magotes, se começassem a atirar. Ah, meu Deus, e pensar que estão perdendo uma oportunidade como esta!” Uma pedra atravessou uma das persianas de zinco. Outra passou pelo buraco que a primeira tinha produzido, espatifou um quadro de “Bonzo”, ricocheteou, cortou o cotovelo de Elizabeth e por fim pousou na mesa. Ouviu-se um rugido de triunfo do lado de fora e em seguida uma sucessão de pancadas fortes e surdas no telhado. Algumas crianças tinham subido nas árvores e se divertiam à grande, escorregando sentadas no telhado. A sra. Lackersteen superou todos os esforços anteriores e soltou um grito agudo bem mais alto que todo o tumulto do lado de fora. “Alguém amordace logo essa bruxa velha!”, gritou Ellis. “Até parecia que estavam matando um porco! Precisamos fazer alguma coisa. Flory, Macgregor, venham aqui! Alguém pense em algum modo de sairmos deste embrulho!” Elizabeth perdera a coragem e começara a chorar. A pedrada tinha doído. Para grande espanto de Flory, ela agarrou-se com força ao braço dele. Mesmo num momento como aquele, o gesto fez seu coração dar um salto. Ele vinha assistindo à cena quase com distanciamento — atordoado pelo barulho, é verdade, mas não muito assustado. Ele sempre achava difícil acreditar que os orientais pudessem ser de fato perigosos. Só quando sentiu a mão de Elizabeth em seu braço é que ele se deu conta da gravidade da situação. “Oh, senhor Flory, por favor, por favor, pense em alguma coisa! O senhor deve conseguir! Qualquer coisa, menos deixar esses homens horríveis entrarem aqui!” “Se pelo menos um de nós conseguisse chegar ao destacamento da polícia!”, gemeu Macgregor. “Um oficial britânico para comandá-las. Acho que eu mesmo devo tentar buscá-los.” “Deixe de tolices! Vão lhe cortar o pescoço!”, berrou Ellis. “Eu irei, se eles estiverem mesmo a ponto de entrar. Mas, imagine, ser morto por porcos como esses! Ia me deixar furioso! E pensar que poderíamos matar toda essa raça se pelo menos a polícia conseguisse chegar aqui!” “Será que alguém não poderia ir pela margem do rio?”, gritou Flory sem muita esperança. “Não há nenhuma possibilidade! Há centenas deles andando de um lado para o outro. Estamos cercados — há birmaneses nos três lados e o rio no outro!” “O rio!” Uma dessas idéias surpreendentes que só são ignoradas por serem óbvias demais ocorreu a Flory. “O rio! É claro! Podemos chegar ao destacamento de polícia com a maior facilidade! Não estão vendo?” “Como?”
“Ora, descendo o rio, por dentro da água! A nado!” “Ah, grande idéia!”, exclamou Ellis, e deu um tapa no ombro de Flory. Elizabeth apertou seu braço e chegou a ensaiar um ou dois passos de dança de alegria. “Posso ir, se você quiser!”, gritou Ellis, mas Flory fez que não com a cabeça. Já tinha começado a tirar os sapatos. Não havia tempo a perder. Os birmaneses já tinham se comportado como tolos antes, mas não havia como dizer o que poderia acontecer caso conseguissem invadir o Clube. O mordomo, que superara seu medo inicial, preparava-se para abrir a janela que dava para o gramado, e olhou para fora. Havia menos de vinte birmaneses no gramado. Tinham deixado os fundos do Clube desguarnecidos, supondo que o rio cortava qualquer possibilidade de retirada. “Desça o gramado correndo o máximo que puder!”, gritou Ellis no ouvido de Flory. “Eles vão se espalhar quando virem você passando.” “E diga à polícia para abrir fogo imediatamente!”, gritou o sr. Macgregor do outro lado. “Pode falar em nome da minha autoridade.” “E diga a eles para fazerem pontaria no meio do povo! Nada de atirar para o alto. Atirar para matar. De preferência na barriga.” Flory pulou da varanda, machucando os pés na terra dura, e alcançou a margem do rio em seis passos. Como Ellis previra, os birmaneses recuaram automaticamente ao vê-lo descer o gramado aos saltos. Atiraram-lhe algumas pedras, mas ninguém o perseguiu — achavam, provavelmente, que só estava tentando fugir, e à luz clara da lua viram que não era Ellis. Em poucos instantes, ele tinha atravessado as folhagens e estava na água. Mergulhou fundo, e o limo horrível do rio o recebeu. Enterrou-se até os joelhos e precisou de vários segundos para se desembaraçar. Quando voltou à superfície, uma espuma tépida, como a que se forma nas cervejas escuras, rodeava seus lábios e alguma coisa esponjosa entrara em sua boca e o sufocava. Era um bulbo de nenúfar. Conseguiu cuspi-lo e percebeu que a corrente já o levara quase vinte metros adiante. Vários birmaneses corriam sem rumo para cima e para baixo da margem, gritando. Com os olhos ao nível da superfície da água, Flory não conseguia ver a massa que cercava o Clube; mas ouvia seu rugido surdo e infernal, que ali soava ainda mais alto do que em terra firme. No momento em que chegou em frente ao destacamento da Polícia Militar, as margens pareciam praticamente vazias. Conseguiu livrar-se da correnteza e sair chapinhando pela lama, que lhe tragou a meia do pé esquerdo. Um pouco mais abaixo na margem, havia dois velhos sentados ao lado de uma fogueira, fazendo ponta em moirões de cerca, como se não houvesse revolta alguma nas cercanias. Flory se arrastou até a margem, pulou por cima da cerca e atravessou correndo com passos pesados o pátio de manobras, estorvado pelas calças encharcadas. Até onde podia perceber no meio daquele barulho, o alojamento estava vazio. Em algumas cocheiras à direita, os cavalos de Verrall se agitavam em pânico. Flory correu para a estrada e viu o que tinha ocorrido. Todo o corpo de policiais, tanto militares quanto civis, um total de cento e
cinqüenta homens, tinha atacado a multidão pela retaguarda, armados apenas com bastões. E tinham sido completamente anulados. A massa era tão densa que lembrava um imenso enxame de abelhas em agitação e rotação constantes. Por toda parte, viam-se policiais tentando em vão abrir caminho em meio a hordas de birmaneses, lutando furiosa e inutilmente, espremidos demais para sequer conseguirem usar direito seus bastões. Enquanto isso, magotes de homens se emaranhavam como Laocoontes nos anéis de pagris desenrolados. Havia uma terrível gritaria de maldições e insultos em três ou quatro línguas, nuvens de poeira e um fedor sufocante de suor e margaridas; mas ninguém parecia ter-se ferido gravemente. É provável que os birmaneses não tivessem usado seus dahs por medo de provocarem uma fuzilaria em resposta. Flory tentou abrir caminho em meio à multidão e viu-se imediatamente engolfado, como os outros. Um mar de corpos fechou-se em torno dele e o empurrou de um lado para o outro, chocando-se com suas costelas e tentando asfixiá-lo com seu calor animal. Ele forcejou para avançar como se quase num sonho, de tão absurda e irreal era a situação. Toda aquela revolta era ridícula desde o início, e o mais ridículo era que os birmaneses, que poderiam têlo matado, não sabiam o que fazer com ele agora que estava ali, totalmente cercado. Alguns berravam insultos em sua cara, outros o empurravam e pisavam-lhe nos pés, outros ainda tentavam abrir caminho em sua direção, posto que era um branco. Flory não sabia ao certo se estava lutando para salvar a vida ou simplesmente abrindo caminho no meio da multidão. Por um bom tempo, ficou entalado, sem conseguir fazer nada, com os braços presos ao lado do corpo. Em seguida se viu engalfinhado com um birmanês muito mais forte do que ele, depois doze homens se juntaram contra ele, como uma onda, e o empurraram mais ainda para o meio da multidão. De repente sentiu uma dor terrível no dedão do pé direito — alguém de botas pisara nele. Era o subahdar da Polícia Militar, um rajput, muito gordo, de bigodes, que havia perdido o pagri. Tinha agarrado um birmanês pelo pescoço e tentava esmurrar seu rosto, enquanto o suor escorria do seu crânio calvo e descoberto. Flory agarrou o pescoço do subahdar e conseguiu separá-lo do adversário, gritando em seu ouvido. Seu urdu desapareceu e ele berrou em birmanês: “Por que vocês não abriram fogo?” Passou muito tempo até ele conseguir escutar a resposta do homem. Então entendeu: “Hukm ne aya” — “Não recebi a ordem!” “Idiota!” Nesse momento, outro bando de homens atirou-se em cima deles, e por um ou dois minutos ficaram imobilizados e praticamente impossibilitados de se mover. Flory percebeu que o subahdar tentava alcançar um apito que tinha no bolso. Por fim conseguiu desprender o apito e produziu uma dúzia de silvos penetrantes, mas não havia a menor esperança de reunir alguma parte dos homens enquanto não
conseguissem abrir uma clareira. Era uma tarefa exaustiva deslocar-se para fora daquela multidão — pareciam atravessar um mar muito viscoso com água até o pescoço. Em certos momentos, a exaustão dos membros de Flory era tão completa que ele se entregava e deixava a multidão segurá-lo e até empurrá-lo para trás. Finalmente, mais devido aos movimentos naturais da massa do que graças a seus próprios esforços, viu-se fora da aglomeração. O subahdar também emergira, além de dez a quinze cipaios e um inspetor de polícia birmanês. A maioria dos cipaios deixou-se cair de cócoras, quase desabando de cansaço, e mancando, os pés pisados pela multidão. “Vamos, levantem-se! Corram para o destacamento! Vão buscar os fuzis e um pente de munição para cada um!” Flory estava agitado demais para sequer falar em birmanês, mas os homens compreenderam e correram com passos pesados na direção da sede do destacamento da polícia. Flory os acompanhou, decidido a escapar da multidão antes que ela tornasse a engolfá-lo. Quando chegou ao portão, os cipaios voltavam com seus fuzis, já preparados para disparar. “O sahib vai dar a ordem!”, arquejou o subahdar. “Você!”, gritou Flory para o inspetor. “Você fala hindustâni?” “Sim, senhor.” “Então diga a eles que atirem para o alto, bem acima da cabeça das pessoas. E, o mais importante, que atirem todos ao mesmo tempo. Eles precisam entender a ordem perfeitamente.” O inspetor gordo, cujo hindustâni era ainda pior que o de Flory, explicou o que deviam fazer, basicamente dando saltos e gesticulando muito. Os cipaios ergueram os fuzis, ouviu-se um estrondo e um eco prolongado vindo das encostas. Por um instante, Flory teve a impressão de que sua ordem tinha sido desobedecida, porque um lado quase inteiro da multidão caiu no chão como um tufo de relva alta ceifado por uma foice. No entanto, só tinham se atirado ao chão em pânico. Os cipaios dispararam uma segunda salva de tiros, mas nem teria sido necessário. A multidão começara a se afastar imediatamente do Clube, como um rio mudando de curso. Desciam aos magotes pela estrada, viam os homens armados barrando o caminho e tentavam recuar, ao que travavam uma nova batalha com os que vinham de trás; por fim, toda a multidão escorreu para os lados e começou a subir devagar a extensão do maidan. Flory e os cipaios avançaram lentamente na direção do Clube, nos calcanhares da multidão, que batia em retirada. Os policiais que tinham sido engolfados pela multidão reuniam-se aos poucos em pequenos grupos. Haviam perdido seus pagris, e seus puttees se arrastavam pelo chão vários metros atrás deles, mas não tinham sofrido danos piores do que hematomas. Os policiais civis puxavam alguns prisioneiros. Quando chegaram ao terreno do Clube, ainda havia birmaneses abandonando o local, uma fileira interminável de jovens que pulavam graciosamente por uma lacuna na sebe como uma procissão de gazelas. Flory teve a
impressão de que a noite descia depressa. Uma pequena figura vestida de branco desvencilhou-se do último grupo da multidão e tropeçou sem forças, indo cair nos braços de Flory. Era o dr. Veraswami, com a gravata arrancada mas os óculos milagrosamente intactos. “Doutor!” “Ah, meu amigo! Ah, estou exausto!” “O que o senhor faz aqui? Estava no meio daquela multidão?” “Estava tentando conter aquela gente, meu amigo. Mas não consegui nada até o senhor chegar. Só que pelo menos um homem deve ter ficado marcado pelos acontecimentos, acho eu!” E exibiu um dos pequenos punhos, para que Flory visse os nós dos dedos machucados. Mas agora estava mesmo escurecendo muito. Nesse instante, Flory ouviu uma voz anasalada atrás de si. “Ora, senhor Flory, então já está tudo acabado? Simples fogo de palha, como sempre. O senhor e eu, juntos, fomos demais para eles... ha, ha!” Era U Po Kyin. Aproximou-se deles com ar beligerante, carregando um imenso bastão e trazendo um revólver enfiado no cinto. Seu traje era estudadamente casual — camiseta e calças shan —, planejado para dar a impressão de que saíra de casa às pressas. Estivera escondido até o perigo passar e agora se apressava em reivindicar parte do crédito pela pacificação. “Muito bom trabalho, senhor Flory!”, disse ele em tom entusiasmado. “Olhe como estão fugindo morro acima! Nós demos um bom jeito neles.” “Nós?”, arquejou o médico, indignado. “Ah, meu caro doutor! Não percebi que o senhor estava aqui. Será possível que o senhor também estivesse no meio da briga? O senhor, arriscando sua valiosa vida! Quem iria acreditar numa coisa dessas?” “O senhor demorou bastante para chegar até aqui!”, retrucou Flory, irritado. “Ora, ora, senhor Flory, já é bastante termos dispersado a multidão. Muito embora”, acrescentou ele em tom de satisfação, porque percebera a censura implícita de Flory, “eles estejam indo na direção das casas dos europeus, como o senhor pode observar. Imagino que ainda possa ocorrer a eles saquear as casas pelo caminho.” Não havia como não admirar a impudência do homem. Ele enfiou o bastão comprido debaixo do braço e saiu caminhando ao lado de Flory com ar quase condescendente, enquanto o médico ficava um pouco para trás, desconcertado. No portão do Clube, os três homens se detiveram. A noite estava extraordinariamente escura e a lua desaparecera. Passando baixas pelo céu, quase impossíveis de ver, nuvens negras corriam para o leste como uma matilha de cães de caça. Um vento quase frio desceu a encosta, impelindo à sua frente uma nuvem de poeira e um fino vapor d’água. Sentiu-se um súbito cheiro intenso de terra molhada. O vento acelerou, as árvores farfalharam, depois começaram a se entrechocar furiosamente, o
imenso jasmineiro ao lado da quadra de tênis soltou uma nebulosa de flores quase invisíveis. Os três homens se viraram e saíram correndo em busca de abrigo, os orientais para casa, Flory para dentro do Clube. Começara a chover.
*
23. No dia seguinte, a cidade estava mais silenciosa do que uma catedral numa segunda-feira de manhã. É o que geralmente ocorre depois de uma revolta. Exceto por um punhado de prisioneiros, todos que poderiam ter algum envolvimento com o ataque ao Clube tinham um álibi a toda prova. O jardim do Clube dava a impressão de ter sido pisoteado por um rebanho de bisões em disparada, mas as casas não tinham sido saqueadas e não havia baixa entre os europeus, a não ser pelo sr. Lackersteen, que, depois que tudo se acabara, tinha sido encontrado totalmente bêbado debaixo da mesa de bilhar, onde se refugiara com uma garrafa de uísque. Westfield e Verrall voltaram de manhã cedo, trazendo presos os assassinos de Maxwell; ou pelo menos trazendo dois prisioneiros que seriam enforcados pelo assassinato de Maxwell. Westfield, quando ouviu as notícias sobre a revolta, ficou pensativo mas conformado. Tinha acontecido de novo — uma revolta de verdade, e ele longe dali, impossibilitado de sufocá-la! Ele parecia destinado a nunca matar um homem. Deprimente, muito deprimente. O único comentário de Verrall foi que tinha sido “muita ousadia” de Flory (um civil) dar ordens à Polícia Militar. Enquanto isso, chovia quase sem cessar. Assim que acordou e ouviu a chuva martelando no telhado, Flory se vestiu e saiu de casa, seguido por Flo. Quando ficou fora do alcance das casas, tirou toda a roupa e deixou a chuva banhar seu corpo nu. Para sua surpresa, descobriu que estava coberto de marcas da noite anterior; mas a chuva lavou todos os vestígios de brotoejas em menos de três minutos. É maravilhoso, o poder curativo da água da chuva. Flory caminhou até a casa do dr. Veraswami, com os sapatos encharcados e jorros de água caindo de tempos em tempos da aba de seu chapéu terai. O céu estava cor de chumbo e inúmeras tempestades rodopiantes perseguiam-se umas às outras pelo maidan como esquadrões de cavalaria. Birmaneses passavam debaixo de vastos chapéus de madeira, embora jorrasse água de seus corpos, como nos deuses de bronze das fontes. Uma rede de riachos já removera toda a terra da estrada e lavava as pedras de seu leito. O médico acabara de chegar em casa quando Flory chegou, e sacudia um guarda-chuva molhado por cima da balaustrada da varanda. Cumprimentou Flory em tom animado. “Suba, senhor Flory, suba aqui agora mesmo! Está chegando bem na hora certa! Eu estava a ponto de abrir uma garrafa de gim. Suba e vamos beber à sua saúde, salvador de Kyauktada!” Conversaram longamente. O médico estava numa disposição radiante. Parecia que o que ocorrera na noite anterior resolvera quase por milagre todos os seus problemas. As intrigas de U Po Kyin se desfizeram. O médico não estava mais à mercê dele; na verdade, a situação agora se invertera. Ele explicou a Flory: “Entende, meu amigo, essa revolta — ou melhor, o seu nobre comportamento nela — estava totalmente fora dos planos de U Po Kyin. Ele desencadeou a suposta
rebelião, teve a glória de esmagá-la e calculou que um novo tumulto fosse simplesmente lhe trazer mais glória ainda. Ouvi dizer que quando ele soube da morte do senhor Maxwell a sua alegria foi sem dúvida nenhuma...” O doutor juntou as pontas do indicador e do polegar, “... como é mesmo que se diz?” “Obscena?” “Isso mesmo. Obscena. Dizem que ele chegou a arriscar uns passos de dança — o senhor consegue imaginar espetáculo mais asqueroso? — e disse: ‘Agora eles vão levar a minha rebelião a sério!’. É o quanto ele dá valor à vida humana. Mas agora o triunfo dele está acabando. A revolta de ontem foi o tropeço final da sua carreira.” “Como?” “Porque, entenda, as honras da revolta não foram dele, mas suas! E todo mundo sabe que eu sou seu amigo. Estou sendo beneficiado, por assim dizer, pelo reflexo da sua glória. O senhor não é o herói do momento? Os seus amigos europeus não receberam o senhor de braços abertos quando o senhor voltou ao Clube ontem à noite?” “Receberam, admito. Foi uma experiência totalmente nova para mim. A senhora Lackersteen não me deixava em paz. ‘Querido senhor Flory’ é como ela passou a me chamar. E agora ela está com Ellis na mira. Não esqueceu que ele a chamou de bruxa velha e mandou que parasse de guinchar feito um porco.” “Ah, o senhor Ellis às vezes exagera na ênfase das expressões. Eu já percebi.” “O único problema nisso tudo é que eu disse aos policiais que atirassem para o alto, em vez de abrir fogo contra as pessoas. Parece que é contra as regas do governo. Ellis ficou um pouco contrariado com isso. ‘Por que você não mandou passar fogo nos filhos-da-p... quando teve uma oportunidade?’ Respondi que poderia atingir os policiais que ainda estavam no meio da multidão; mas ele disse que eram só negros, afinal de contas. De qualquer modo, todos os meus pecados foram perdoados. E Macgregor ainda citou alguma coisa em latim — acho que era Horácio.” Meia hora depois Flory se dirigiu ao Clube. Ele prometera encontrar-se com o sr. Macgregor para resolverem a questão da indicação do médico. Mas agora não haveria a menor dificuldade. Os outros viriam comer na sua mão até se esquecerem daquela revolta absurda; ele poderia entrar no Clube e fazer um discurso a favor de Lênin que todos iam achar ótimo. A chuva continuava a cair, deliciosa, encharcandoo da cabeça aos pés e enchendo suas narinas com o cheiro de terra molhada, aroma esquecido durante os dolorosos meses da estiagem. Caminhou pelo jardim destruído, onde o mali, acocorado com a chuva a lhe cair nas costas nuas, abria covas para as zínias. Quase todas as flores tinham sido pisoteadas. Elizabeth estava lá, na varanda lateral, como se estivesse à sua espera. Ele tirou o chapéu, despejando toda a água acumulada na aba, e foi ao encontro dela. “Bom dia!”, disse ele, levantando a voz por causa da chuva que tamborilava ruidosa no telhado baixo.
“Bom dia! A chuva não está fortíssima? Uma pancada!” “Ah, mas ainda não é chuva de verdade. Espere só até julho. A baía de Bengala inteira vai desabar na nossa cabeça, em prestações.” Parecia que eles jamais conseguiriam se encontrar sem começar falando sobre o tempo. Ainda assim, o rosto dela dizia algo muito diferente daquelas palavras banais. Seu comportamento mudara completamente desde a noite anterior. E ele tomou coragem. “Como está o lugar onde a pedra atingiu seu braço?” Ela estendeu o braço e deixou que ele o apalpasse. Tinha uma expressão gentil, quase submissa. Ele percebeu que sua façanha da véspera o transformara quase num herói aos olhos dela. Ela não tinha como saber como o perigo fora realmente pequeno, e ainda lhe perdoara tudo, até mesmo Ma Hla May, porque ele demonstrara coragem na hora certa. Novamente búfalo e leopardo. O coração dele batia com força no peito. Ele deslizou a mão pelo braço da jovem e entrelaçou os dedos com os dela. “Elizabeth...” “Alguém pode nos ver!”, disse ela, retirando a mão, mas sem raiva. “Elizabeth, preciso lhe dizer uma coisa. Lembra-se de uma carta que eu lhe escrevi da floresta, depois da nossa... algumas semanas atrás?” “Lembro.” “E se lembra do que eu dizia?” “Sim. Sinto muito não ter respondido. Mas é que...” “Eu não esperava mesmo que você respondesse àquela altura. Só queria que você se lembrasse do que eu lhe disse.” Na carta, claro, ele só lhe dissera, e num tom muito tímido, que a amava — e que sempre haveria de amá-la, houvesse o que houvesse. Estavam frente a frente, e muito próximos. Num impulso — e foi tão rápido que depois ele teve dificuldade de acreditar que havia acontecido — Flory a tomou nos braços e puxou-a para junto de si. Num primeiro momento, ela cedeu e deixou que ele erguesse seu rosto e a beijasse; mas depois, bruscamente, ela recuou e sacudiu a cabeça. Talvez temesse que alguém os visse, talvez fosse só porque o bigode dele estava molhado de chuva. Sem dizer mais nada, ela se desvencilhou e saiu correndo para dentro do Clube. Havia um ar de tensão e de arrependimento em seu rosto; porém ela não parecia enraivecida. Ele entrou no Clube atrás dela, mas devagar, e esbarrou com o sr. Macgregor, que estava de excelente humor. Assim que viu Flory, trovejou alegremente, “Ahá! Eis que entra em cena o herói triunfante!”, e em seguida, numa disposição mais séria, tornou a dar-lhe os parabéns. Flory aproveitou a ocasião para dizer algumas palavras em favor do médico. Fez um relato muito vívido da bravura que o médico demonstrara durante a revolta. “Estava no meio da multidão, lutando como um tigre” etc. etc. E nem era tanto exagero, porque o médico sem dúvida tinha posto a
vida em risco. O sr. Macgregor ficou impressionado, como os demais, quando ouviram a história. A qualquer momento, o testemunho de um europeu pode ter um efeito mais favorável a um oriental que o de mil compatriotas seus; e naquele momento a opinião de Flory tinha um peso especial. O bom nome do médico foi praticamente recuperado. Sua aceitação no Clube podia ser tida como certa. No entanto, ainda não fora finalmente consagrada, porque Flory precisava regressar ao acampamento. Voltou caminhando naquela mesma noite e não tornou a ver Elizabeth antes de partir. Era bastante seguro viajar pela floresta, agora que a rebelião frustrada chegara obviamente ao fim. Quase nunca se falava em rebelião depois que as chuvas começavam — os birmaneses ficam ocupados demais arando a terra, e de qualquer modo os campos encharcados tornam-se impraticáveis para o deslocamento de grandes massas humanas. Flory retornaria a Kyauktada dali a dez dias, quando se esperava a visita do capelão, que ocorria de seis em seis semanas. A verdade é que ele não tinha a menor vontade de ficar em Kyauktada enquanto Elizabeth e Verrall estivessem lá. Ainda assim, era estranho, mas toda a amargura — todo o ciúme obsceno e rasteiro que o atormentava antes — desaparecera, agora que ele sabia que ela o perdoara. Era apenas Verrall quem se encontrava entre eles dois. E mesmo a imagem de Elizabeth nos braços de Verrall mal o incomodava, porque ele sabia que no fim das contas aquele caso haveria de chegar ao fim. Verrall, era mais do que óbvio, jamais se casaria com Elizabeth; rapazes da laia dele não se casam com jovens sem dinheiro que conhecem em obscuros postos indianos. Ele só estava se divertindo com ela. E logo a abandonaria e ela voltaria para ele — para Flory. E bastava — já era muito melhor do que ele havia esperado antes. Existe uma humildade no amor autêntico que chega de certo modo a ser horrível. U Po Kyin ficara cego de fúria. Aquela revolta miserável o pegara de surpresa, até onde alguma coisa podia pegá-lo de surpresa, e fora um punhado de cascalho atirado nas engrenagens dos seus planos. Precisaria retomar desde o início o seu projeto de difamação do médico. E já recomeçara, claro, com uma tamanha avalanche de cartas anônimas que Hla Pe precisara faltar ao trabalho por dois dias — dessa vez alegando bronquite — para conseguir escrevê-las. O médico era acusado de todos os crimes, de pederastia a roubo de selos postais do governo. O carcereiro da prisão que deixara Nga Shwe O fugir tinha sido levado a julgamento e acabara triunfalmente absolvido depois que U Po Kyin gastou mais de duzentas rupias para subornar as testemunhas. E mais cartas despencavam aos magotes sobre o sr. Macgregor, provando com todos os detalhes que o dr. Veraswami, o verdadeiro culpado pela fuga, tentara desviar a culpa para um pobre subordinado desprovido de poder. Ainda assim, os resultados foram decepcionantes. A carta confidencial que o sr. Macgregor escreveu ao comissário, relatando a revolta, foi aberta a vapor e seu tom era tão alarmante — o sr. Macgregor dizia que o médico se comportara “da maneira mais meritória” na noite da rebelião — que U Po Kyin convocou um conselho de guerra. “Chegou o momento de uma ação mais vigorosa”, disse ele aos demais — o
conclave se reunira na varanda da frente, antes do café-da-manhã. Ma Kin estava presente, além de Ba Sein e Hla Pe — este último um promissor e animado jovem de dezoito anos, com os modos de alguém que haveria certamente de ser bem-sucedido na vida. “Estamos dando murros numa parede de tijolo”, continuou U Po Kyin, “e a muralha é Flory. Quem poderia imaginar que aquele covarde iria tomar o partido do amigo? Mas agora é assim. Enquanto Veraswami tiver o apoio dele, não poderemos fazer nada.” “Andei conversando com o mordomo do Clube”, disse Ba Sein. “E ele me disse que o senhor Ellis e o senhor Westfield ainda não querem que o médico seja aceito no Clube. O senhor não acha que eles voltarão a brigar com Flory assim que essa história da revolta for esquecida?” “Claro que sim, eles sempre brigam. Mas enquanto isso o mal já vai estar feito. Imaginem só se aquele homem for mesmo eleito! Acho que eu morreria de raiva se isso acontecesse. Não, só nos resta uma coisa a fazer. Precisamos atacar o próprio Flory.” “Atacar o senhor Flory? Mas ele é branco!” “Pouco se me dá! Eu já ataquei homens brancos antes. Assim que Flory cair em desgraça, a carreira do médico acabará. E ele também cai em desgraça! Vou deixá-lo tão coberto de vergonha que ele nunca mais vai se atrever a mostrar a cara no Clube!” “Mas... um branco! E do que o senhor vai acusá-lo? Quem iria acreditar em alguma coisa contra um branco?” “Você não é bom em estratégia, Ko Ba Sein. Ninguém acusa um branco de nada; ele precisa ser surpreendido. Desonra pública, in flagrante delicto. Vou resolver o que faremos com ele. Agora fiquem quietos enquanto eu penso.” Houve uma pausa. U Po Kyin ficou contemplando a chuva com as mãozinhas entrelaçadas atrás das costas e pousadas no platô natural do seu traseiro. Os outros três o observavam da extremidade da varanda, um pouco assustados com aqueles planos de atingir um homem branco e esperando alguma idéia magistral para lidar com uma situação que ia além das forças deles. Era um pouco como a conhecida imagem (será de Meissonnier?) de Napoleão em Moscou, debruçado sobre mapas enquanto seus oficiais aguardavam em silêncio, com o chapéu nas mãos. Mas é claro que o desembaraço de U Po Kyin era maior que o de Napoleão. Em dois minutos seu plano já estava pronto. Quando se virou para os demais presentes, seu rosto amplo estava iluminado por uma alegria excessiva. O médico se enganara quando disse que U Po Kyin arriscara uns passos de dança; a figura de U Po Kyin não fora concebida para a dança; no entanto, se lhe fosse possível, teria dançado naquele momento. Chamou Ba Sein com um aceno de cabeça e passou alguns segundos cochichando no ouvido dele.
“É a coisa certa a fazer, não acha?”, concluiu. Um sorriso largo, espontâneo e incrédulo abriu-se aos poucos no rosto de Ba Sein. “Cinqüenta rupias devem bastar para cobrir todas as despesas”, acrescentou U Po Kyin, radiante. O plano foi explicado em detalhe. E quando os outros entenderam, todos, até mesmo Ba Sein, que quase nunca ria, até mesmo Ma Kin, que no fundo reprovava tudo aquilo, prorromperam em risadas incontroláveis. O plano era de fato irresistível. Uma idéia de gênio. E o tempo todo chovia, chovia, chovia. Depois da volta de Flory ao acampamento, a chuva caiu por trinta e oito horas ininterruptas, às vezes reduzindo-se a uma intensidade de chuva inglesa, às vezes caindo em cataratas tamanhas que se tinha a impressão de que o oceano inteiro fora absorvido pelas nuvens. O tamborilar no telhado tornava-se enlouquecedor ao cabo de algumas horas. Nos intervalos entre as pancadas de chuva, o sol brilhava com a mesma fúria de sempre, a lama começava a rachar e a emitir vapor, e brotoejas emergiam por todo o corpo das pessoas. Hordas de besouros tinham brotado de seus casulos assim que as chuvas começaram; ocorreu uma praga de percevejos asquerosos que invadiam as casas em quantidades inacreditáveis, espalhavam-se pela mesa, tornando qualquer refeição impossível. Verrall e Elizabeth ainda saíam para passear a cavalo todos os dias ao cair da tarde, quando a chuva não estava forte demais. Para Verrall, todos os climas davam no mesmo, mas ele não gostava de ver seus cavalos muito enlameados. Quase uma semana se passou. Nada mudara entre os dois — não se tornaram nem mais nem menos íntimos do que antes. O pedido de casamento, ainda aguardado com confiança, continuava sem ser expresso. E então aconteceu algo alarmante. Chegou ao Clube, através do sr. Macgregor, a notícia de que Verrall estava prestes a deixar Kyauktada; a Polícia Militar permaneceria na cidade, mas outro oficial viria substituir Verrall, ninguém sabia ao certo quando. Elizabeth ficou numa ansiedade horrível. Se ele ia embora, é claro que dali a pouco haveria de lhe dizer algo mais definido. Ela não podia interrogá-lo — não ousava sequer perguntar-lhe se estava mesmo partindo; só podia esperar que ele enfim lhe dissesse alguma coisa. Mas ele não dizia nada. E então uma noite, sem aviso, ele não apareceu no Clube. E dois dias inteiros se passaram sem que Elizabeth o visse. Era terrível, mas não havia nada a fazer. Verrall e Elizabeth tinham sido inseparáveis por semanas a fio, e ainda assim, de certo modo, eram quase desconhecidos. Ele se mantivera distante de todos — nem sequer entrara na casa dos Lackersteen. Não o conheciam o bastante para irem à sua procura no alojamento provisório que ocupava ou enviar-lhe um bilhete; e ele não apareceu mais no desfile matinal no maidan. Nada a fazer além de esperar até que ele decidisse reaparecer. E quando reaparecesse, será que a pediria em casamento? Claro que sim, claro que sim! Tanto para Elizabeth quanto para sua tia (embora nenhuma das duas tocasse abertamente no assunto), era ponto pacífico que ele iria pedir a mão da jovem.
Elizabeth aguardava o próximo encontro com uma esperança que chegava quase a doer. Deus queira que ainda faltasse pelo menos uma semana para ele ir embora! Se ela saísse para cavalgar com ele por mais quatro vezes, ou três — ou até mesmo só duas vezes —, tudo ficaria bem. Deus queira que ele apareça logo de novo! Era impensável que ele tornasse a aparecer só para se despedir! As duas mulheres iam ao Clube todas as noites, e lá ficavam sentadas até tarde, esperando ouvir os passos de Verrall na entrada, sem dar a impressão de estarem à espera dele; mas Verrall não voltou a aparecer. Ellis, que percebia a situação perfeitamente, ficava observando Elizabeth com uma satisfação perversa. E o que tornava tudo ainda pior é que agora o sr. Lackersteen importunava Elizabeth o tempo todo. E ficara extremamente ousado. Quase debaixo dos olhos dos criados ele a emboscava, barrava-lhe a passagem e começava a beliscá-la e a acariciá-la da maneira mais revoltante. A única forma de defesa com que ela contava era ameaçar contar tudo à tia; felizmente ele era estúpido demais para perceber que ela nunca teria a coragem de fazê-lo. Na terceira manhã, Elizabeth e a tia chegaram ao Clube bem a tempo de escaparem de uma violenta chuvarada. E já estavam sentadas no salão havia alguns minutos quando ouviram o som de alguém batendo os sapatos no corredor para livrálos de parte da água. O coração das duas disparou, porque podia ser Verrall. E então um jovem entrou no salão, desabotoando uma longa capa de chuva. Era um jovem robusto, alegre e de ar um tanto estúpido, de uns vinte e cinco anos, com faces rosadas e rechonchudas, cabelo cor de manteiga, testa nenhuma e, como mais adiante ficaria claro, uma gargalhada ensurdecedora. A sra. Lackersteen produziu um som desarticulado — arrancado inconscientemente dela pela decepção. O jovem, porém, saudou as duas com um imediato bom humor, pois era uma dessas pessoas que desde o primeiro encontro estabelecem a mais absoluta intimidade com qualquer um. “Alô! Alô!”, disse ele. “O príncipe encantado chegou! Espero não estar incomodando, nem nada disso. Não estou me intrometendo em nenhuma reunião de família ou coisa parecida?” “De maneira alguma!”, respondeu, surpresa, a sra. Lackersteen. “O que eu queria dizer... pensei em aparecer aqui no Clube para ver como eram as coisas, sabem. Só para ir me aclimatando ao uísque local. Cheguei ontem à noite.” “O senhor foi transferido para cá?”, perguntou a sra. Lackersteen, espantada; não estavam esperando a chegada de ninguém. “Sim, fui. E o prazer, claro, é todo meu.” “Mas não fomos avisados... Ah, claro! O senhor deve ser do Departamento de Florestas. O substituto do pobre senhor Maxwell?” “O quê? Departamento de Florestas? De maneira alguma! Sou o novo comandante da Polícia Militar, sabem.” “O... quê?”
“O novo oficial da Polícia Militar. No lugar do nosso querido Verrall. Ele recebeu ordens de voltar para o seu antigo regimento. E está partindo com uma pressa medonha. E posso dizer que vai deixar as coisas num belo estado de desordem para este seu criado.” O oficial era um jovem sem muito preparo, mas mesmo assim notou, pela expressão de Elizabeth, que ela de repente começou a passar mal. Ela viu-se totalmente incapaz de falar. Vários segundos transcorreram antes que a sra. Lackersteen conseguisse exclamar: “O senhor Verrall, de partida? Mas ele não vai embora assim logo...!” “De partida? Ele já foi!” “Já foi?” “Bem, o que eu quis dizer é que o trem deve sair daqui a meia hora. E ele já deve estar na estação. Mandei que uma patrulha de soldados de folga fosse ajudá-lo no embarque. Ele já deve ter embarcado os cavalos e todo o resto.” Decerto houve mais explicações, mas nem Elizabeth nem a tia ouviram nada do que ele disse. Em todo caso, sem nem mesmo se despedirem do jovem oficial, em menos de quinze segundos as duas já estavam na porta de saída do Clube. A sra. Lackersteen chamou o mordomo. “Mordomo! Mande o meu riquixá vir nos pegar na porta da frente agora mesmo! Para a estação, jaldi!”, acrescentou ela quando o riquixá apareceu e, depois de se instalar no assento, cutucou o puxador do veículo nas costas com a ponta do guardachuva, para fazê-lo andar mais depressa. Elizabeth vestira a capa e a sra. Lackersteen estava encolhida no riquixá embaixo de seu guarda-chuva, mas nenhum dos dois se mostrava muito útil contra a chuva. Ela desabava em camadas tão violentas que o vestido de Elizabeth ficou ensopado antes que tivessem chegado ao portão do Clube, e o riquixá quase tombou de lado por causa do vento. O puxador baixou a cabeça e aplicou toda a força em avançar, gemendo. Elizabeth estava em grande aflição. Era um engano, só podia ser um engano. Ele devia ter-lhe escrito, mas a carta se extraviara. Era isso, só podia ser isso! Ele não podia ter decidido deixá-la sem nem dizer adeus! E se fosse assim... Não, nem mesmo nesse caso ela abriria mão da esperança! Quando ele a visse na plataforma, pela última vez, não poderia ser brutal a ponto de renegá-la! À medida que se aproximavam da estação, ela se afundou no banco do riquixá e beliscou as faces para deixá-las coradas. Um esquadrão de cipaios da Polícia Militar deslocavase agitado por ali, os uniformes encharcados, empurrando uma carroça. Devia ser a escolta de Verrall. Graças a Deus ainda restavam quinze minutos. O trem só partiria dali a outros quinze minutos. Ela agradeceu a Deus, pelo menos, por essa última oportunidade de vê-lo! Chegaram à plataforma exatamente a tempo de ver o trem começar a deixar a estação e ganhar velocidade com uma série de chiados ensurdecedores. O chefe da estação, um homenzinho preto e redondo, estava de pé entre os trilhos olhando com
ar infeliz para o trem que partia, enquanto com uma das mãos segurava na cabeça o topi coberto pelo protetor à prova d’água e com a outra tentava enxotar dois indianos que acenavam para ele com insistência, procurando chamar sua atenção para alguma coisa. A sra. Lackersteen inclinou o corpo para fora do riquixá e exclamou, agitada, em meio à chuva: “Chefe da estação!” “Sim, senhora?” “Que trem é aquele?” “É o trem de Mandalay, minha senhora!” “O trem de Mandalay? Mas não pode ser!” “Eu lhe garanto, minha senhora, que é precisamente o trem de Mandalay.” E veio caminhando na direção delas, tirando o topi da cabeça. “Mas o senhor Verrall... o oficial da Polícia? Ele não deve ter embarcado...” “Ah, sim, minha senhora, ele embarcou.” Indicou com a mão o trem, que agora se afastava depressa no meio de uma nuvem de chuva e vapor. “Mas o trem ainda não estava na hora de sair!” “Não, senhora. Só devia sair daqui a dez minutos.” “Então por que foi embora?” O chefe da estação gesticulou com o topi à guisa de desculpas, de um lado para o outro. Seu rosto escuro e largo exibia um ar de descontentamento. “Eu sei, minha senhora, eu sei! Muito irregular e sem precedentes! Mas o jovem oficial da Polícia Militar me deu a ordem de mandar o trem partir! Declarou que tudo estava pronto e que ele não queria ficar esperando. Respondi que era uma irregularidade. Ele disse que nem queria saber se era ou não irregular. Eu ainda argumentei. Ele insistiu. Em suma...” Fez outro gesto. Significava que Verrall era o tipo de homem que sempre conseguia o que queria, mesmo quando se tratava de fazer um trem partir dez minutos antes da hora. Houve uma pausa. Os dois indianos, imaginando que chegara a sua oportunidade, avançaram de repente, emitindo lamentações, e apresentaram alguns cadernos ensebados para a inspeção da sra. Lackersteen. “Mas o que esses homens estão querendo?” “São wallahs de capim, minha senhora. Dizem que o tenente Verrall foi embora devendo muito dinheiro a eles. De um comprou feno, do outro comprou milho. Assunto meu não é.” Ouviram um apito do trem distante. Ele fez a curva, como uma lagarta de traseiro preto que olha para trás antes de continuar seu caminho e em seguida desaparece. As calças brancas e encharcadas do chefe da estação drapejavam desoladas em suas pernas. Se Verrall tinha mandado o trem partir antes da hora para fugir de Elizabeth ou dos wallahs de ração para cavalo, essa era uma questão interessante que jamais chegaria a ser totalmente esclarecida.
Voltaram pela estrada e em seguida subiram com dificuldade a ladeira, de frente para um vento tão forte que às vezes as empurrava vários metros para trás. Quando chegaram à varanda de casa, estavam sem fôlego. Os criados recolheram suas capas de chuva ensopadas e Elizabeth sacudiu uma parte da água dos cabelos. A sra. Lackersteen quebrou o silêncio pela primeira vez desde que deixaram a estação: “Ora veja só! De todas as grosserias, de todas as maneiras simplesmente abomináveis...!” Elizabeth parecia pálida e doente, e não era por causa da chuva e do vento que lhe tinham açoitado o rosto. Mas não manifestava nada. “Bem que ele poderia ter esperado para se despedir de nós”, declarou com frieza. “Pode acreditar no que eu lhe digo, querida, foi muito melhor para você se ver livre dele!... Como eu lhe disse desde o início, era um jovem francamente detestável!” Mais tarde, sentadas para o café-da-manhã, depois de terem tomado banho, vestido roupas secas e estarem se sentindo melhor, ela observou: “Deixe ver, que dia é hoje?” “Sábado, titia.” “Ah, sábado. Então o querido ‘padre’ vai chegar hoje à noite. Quantos de nós estarão na cerimônia de amanhã? Ora, acho que vamos estar todos lá! Que boa notícia! O senhor Flory também já vai ter chegado. Acho que ele disse que iria voltar amanhã da floresta.” E acrescentou, num tom quase amoroso: “O nosso querido senhor Flory!”
*
24. Eram quase seis da tarde, e o absurdo sino instalado no campanário de dois metros acima do telhado da igreja começou a badalar enquanto o velho Mattu puxava a corda interna. Os raios do sol poente, refratados por chuvaradas distantes, inundavam o maidan com uma luz atenuada e deslumbrante. Tinha chovido no início do dia, e a chuva ainda tornaria a cair. A comunidade cristã de Kyauktada, quinze pessoas no total, acorria à porta da igreja para a cerimônia do fim da tarde. Flory já estava presente, bem como o sr. Macgregor, com seu topi cinza e tudo o mais, além do sr. Francis e do sr. Samuel, exibindo-se em caprichados conjuntos de calça e camisa, pois a cerimônia religiosa que se realizava a cada seis semanas era o grande acontecimento social da vida deles. O ministro, um homem alto de cabelos brancos com um rosto refinado e sem cor, usando pince-nez, estava de pé nos degraus da igreja de batina e sobrepeliz, que vestira na casa do sr. Macgregor. Sorria com ar amigável mas um tanto desamparado para quatro cristãos de Karen que tinham vindo prestar-lhe homenagens; porque não falava uma palavra da língua deles, nem eles da sua. Havia mais um cristão oriental, um indiano escuro e tristonho de raça incerta, postado humildemente ao fundo. Sempre comparecia aos serviços religiosos, mas ninguém sabia quem ele era nem por que era cristão. Sem dúvida fora capturado e batizado na primeira infância por missionários, porque os indianos convertidos geralmente voltavam atrás na idade adulta. Flory viu Elizabeth descendo a ladeira, vestida de lilás, com a tia e o tio. Ele a vira de manhã no Clube — só tiveram um minuto a sós antes que os outros chegassem. E ele só lhe fizera uma pergunta. “Verrall foi embora... de vez?” “Foi.” E não houvera necessidade de dizer mais nada. Ele simplesmente a pegara pelos braços e a puxara para si. Ela se deixara levar, quase agradecida — ali, em plena luz do dia, sem sentir pena do rosto desfigurado dele. Por um momento, ela se agarrara a ele quase como uma criança. Era como se ele a tivesse salvado ou defendido de alguma coisa. Ele ergueu o rosto dela para beijá-la e descobriu, surpreso, que ela estava chorando. Não houve tempo de conversar, nem mesmo de perguntar se ela aceitava se casar com ele. Mas não fazia mal, depois da cerimônia teriam tempo de sobra. Talvez na visita seguinte, dali a seis semanas, o ministro os casasse. Ellis, Westfield e o novo oficial da Polícia Militar se aproximavam, vindos do Clube, onde haviam tomado algumas doses rápidas para conseguir enfrentar o serviço até o fim. O funcionário do Departamento de Florestas que fora mandado para o lugar de Maxwell, um homem alto e descarnado, completamente calvo não fossem dois tufos semelhantes a suíças à frente das orelhas, vinha atrás deles. Flory não teve tempo de dizer mais do que “Boa noite” a Elizabeth quando ela chegou. Mattu, vendo que todos estavam presentes, parou de tocar o sino, e o ministro abriu
caminho para o interior da igreja seguido pelo sr. Macgregor, com seu topi apoiado na barriga, e os Lackersteen e mais os cristãos nativos. Ellis beliscou o cotovelo de Flory e sussurrou em seu ouvido, com voz alcoolizada: “Vamos lá, entre na fila. Hora do festival de hipocrisia. Ordinário, marche!” Ele e o oficial da Polícia Militar entraram atrás dos outros, de braços dados, com passos dançantes, o oficial balançando o traseiro gordo para imitar uma dançarina de pwe, até chegarem ao banco. Flory sentou-se no mesmo banco que os dois, à direita de Elizabeth, do outro lado do corredor. Era a primeira vez que se permitia sentar-se com a marca de nascença virada na direção da jovem. “Feche os olhos e conte até vinte e cinco”, murmurou Ellis quando se ajoelharam, provocando um riso sufocado do oficial. A sra. Lackersteen já assumira seu lugar ao harmônio, que era menor que uma escrivaninha. Mattu postou-se junto à porta e começou a puxar a corda do punkah — armado de tal maneira que só abanava os primeiros bancos, onde se sentavam os europeus. Flo entrou farejando pelo corredor, encontrou o banco de Flory e instalou-se debaixo dele. A cerimônia começou. Flory só prestava uma atenção intermitente nos trabalhos. Tinha uma vaga noção de ter-se posto de pé e depois se ajoelhado e murmurado “amém” ao final de preces intermináveis, enquanto Ellis cutucava seu braço e murmurava suas blasfêmias por trás do hinário. Mas ele estava feliz demais para organizar seus pensamentos. O inferno lhe devolvera Eurídice. A luz amarelada entrava pela porta e inundava a igreja, dando às amplas costas do terno de seda do sr. Macgregor um brilho de ouro em folha. Elizabeth, do outro lado do corredor estreito, estava tão próxima de Flory que ele escutava cada farfalhar de seu vestido e chegava a sentir, ou pelo menos imaginar, o calor de seu corpo; ainda assim, não olhou na direção dela nem uma vez, para que os outros não percebessem que havia alguma coisa. O harmônio tremia bronquiticamente enquanto a sra. Lackersteen forcejava para injetar-lhe ar suficiente, bombeando seu único pedal. O canto da congregação era um som estranho e desagradável: a voz trovejante do disposto sr. Macgregor, uma espécie de murmúrio encabulado dos demais europeus e, do fundo da igreja, um cantochão alto e sem palavras, porque os cristãos de Karen conheciam a melodia dos hinos, mas não a letra. Todos tornaram a se ajoelhar. “Mais uma série de malditas flexões de joelho”, sussurrou Ellis. A noite caía, e ouviu-se um tamborilar suave de chuva no telhado; as árvores do lado de fora farfalharam e uma nuvem de folhas amarelas passou, soprada junto à janela. Flory as observava através dos dedos. Vinte anos antes, nos domingos de inverno, no banco da igreja em que se sentava em sua paróquia da Inglaterra, ele sempre ficava olhando as folhas amarelas, como naquele momento, levantarem vôo e dançarem no ar contra um céu de chumbo. Seria possível agora recomeçar, como se aqueles anos horríveis não o tivessem afetado? Pelos vãos dos dedos, olhou de lado para Elizabeth, ajoelhada e de cabeça baixa, com o rosto escondido nas mãos jovens e cobertas de sardas. Depois que se casassem, depois que se casassem! Como
seriam felizes juntos, naquela terra estranha mas hospitaleira! Ele já via Elizabeth no acampamento, a recebê-lo quando ele chegava cansado do trabalho, e Ko S’la saindo às pressas da barraca com uma garrafa de cerveja; ele já a via caminhando pela floresta a seu lado, observando os calaus empoleirados nas figueiras imensas e colhendo flores sem nome, e nos pastos enlameados, caminhando em meio ao nevoeiro dos meses frios atrás de narcejas e marrecos. Viu como haveria de ficar sua casa depois que ela a redecorasse. Viu a sala de visitas, não mais desarrumada como na típica casa de solteirão, mas com móveis novos vindos de Rangoon, e um vaso de balsaminas cor-de-rosa no centro da mesa lembrando botões de rosa, além de livros, aquarelas e um piano de madeira preta. Acima de tudo, um piano! Deteve os pensamentos no piano — símbolo, talvez por causa de sua falta de musicalidade, da vida civilizada e bem organizada. Estava liberto para sempre da subvida que levara na última década — as orgias, as mentiras, a dor do exílio e da solidão, os acertos com meretrizes, agiotas e pukka sahibs. O ministro subiu ao pequeno púlpito de madeira, retirou o elástico de um rolo de papel, pigarreou e anunciou o texto do sermão. “Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.” “Contanto que não dure muito, pelo amor de Deus”, murmurou Ellis. Flory nem percebeu quantos minutos se passaram. As palavras do sermão fluíam pacificamente por sua cabeça, num borbulhar indistinto, quase inaudível. Depois que eles se casassem, ainda pensava ele, depois que eles se casassem... Mas o que estaria acontecendo? O vigário tinha interrompido o sermão no meio de uma frase. Removera o pincenez e brandia as lentes com ar contrariado para alguém que se postara na entrada da igreja. E ouviu-se um grito assustador, em voz roufenha. “Paik-san pei-laik! Paik-san pei-laik!” Todos tiveram um sobressalto e se viraram para trás. Era Ma Hla May. Quando todos olharam para ela, ela entrou na igreja e empurrou Mattu de lado com violência. E sacudiu o punho na direção de Flory. “Paik-san pei-laik! Paik-san pei-laik! Sim, é você mesmo... Flory, Flory!” (Que ela pronunciava “Porley”.) “Você, sentado na frente, com o cabelo escuro! Vire-se e olhe para mim, seu covarde! Onde está o dinheiro que me prometeu?” Ela gritava como uma louca. As pessoas estavam boquiabertas, espantadas demais para fazer qualquer gesto ou dizer o que fosse. Seu rosto estava cinzento, coberto de pó, os cabelos engordurados estavam mal presos, seu longyi estava esfarrapado na bainha. Ela parecia uma louca furiosa do bazar. As entranhas de Flory davam a impressão de ter virado gelo. Ah, meu Deus, meu Deus! E eles precisavam saber... e Elizabeth precisava saber que aquela mulher fora sua amante? Mas ele não tinha saída, não havia a menor esperança de que alguém se enganasse. Ela tinha gritado seu nome várias vezes. Flo, ao ouvir a voz conhecida, deixou seu abrigo debaixo do
banco e saiu pelo corredor, abanando a cauda para Ma Hla May. E a desgraçada relatava aos gritos, com riqueza de detalhes, tudo que Flory fizera com ela. “Olhem para mim, homens brancos, e vocês também, mulheres brancas, olhem para mim! Olhem como ele me desgraçou! Olhem os farrapos que eu estou usando! E ele sentado ali, o mentiroso, o covarde, fingindo que não me vê! Se dependesse dele, eu poderia até morrer de fome junto ao portão da sua casa, como um cão sem dono! Ah, mas eu vou deixá-lo coberto de vergonha! Vire-se e olhe para mim! Olhe para este corpo que você beijou mais de mil vezes... olhe, olhe...” E ela começou a rasgar e a arrancar suas roupas — o último insulto para uma mulher birmanesa de origem simples. O harmônio emitiu um guincho quando a sra. Lackersteen fez um movimento convulsivo. As pessoas por fim tinham recuperado a iniciativa e começavam a se mexer. O ministro, que vinha balindo sem nenhum efeito, recuperou a voz. “Levem esta mulher para fora!”, ordenou. Flory exibia uma expressão devastada. Depois do primeiro momento, tinha virado de costas para a porta e firmado o queixo num esforço desesperado para parecer tranqüilo. Mas em vão, totalmente em vão. Seu rosto ficou amarelo como osso e o suor brilhava em sua testa. Francis e Samuel, tomando talvez a primeira iniciativa útil da vida deles, levantaram-se do banco num salto repentino, agarraram Ma Hla May pelos braços e a arrastaram para fora, ainda aos gritos. O silêncio pareceu profundo na igreja quando afinal conseguiram levá-la para longe do alcance de todos os ouvidos. Fora uma cena tão violenta, tão ordinária, que todos se perturbaram. Até Ellis parecia enojado. Flory não conseguia falar nem se mover. Ficou sentado olhando fixo para o altar, o rosto rígido e tão exangue que a marca de nascença parecia destacar-se como uma mancha de tinta azul em contraste com a palidez extrema. Elizabeth olhou para ele do outro lado do corredor e a repulsa que sentiu deixou-a quase fisicamente doente. Ela não entendera nem uma palavra do que Ma Hla May tinha gritado, mas o significado da cena fora perfeitamente claro para ela. A idéia de que ele tivesse sido amante daquela criatura enlouquecida de pele cinzenta a fazia estremecer de nojo. O pior, porém, o pior de tudo, era a feiúra dele naquele momento. O rosto de Flory a horrorizava, de tão desolado, rígido e velho. Era como uma caveira. Só a marca de nascença parecia ter alguma vida naquele semblante. E ela agora o odiava por aquela marca. Até o momento, ela nunca tinha percebido o quanto era uma coisa desonrosa e imperdoável. Como um crocodilo, U Po Kyin o atacara em seu ponto mais vulnerável. Porque nem é necessário dizer que toda a cena fora produzida por U Po Kyin. Ele tinha visto a sua oportunidade, como sempre, e dera instruções detalhadas e cuidadosas a Ma Hla May quanto ao que devia dizer. O capelão encerrou o sermão o mais rápido possível. Assim que ele acabou, Flory saiu apressado, sem olhar para ninguém. Estava escurecendo, graças a Deus. A uns cinqüenta metros da igreja ele parou e ficou observando os outros seguirem para o Clube em duplas. E lhe pareceu que eles
se apressavam. Ah, claro que sim! Assunto é que não faltaria naquela noite! Flo se esfregou em seus tornozelos com a barriga para cima, pedindo-lhe que brincasse com ela. “Saia daqui, seu monstro!”, disse ele, e deu-lhe um pontapé. Elizabeth tinha parado na porta da igreja. O sr. Macgregor, por sorte, parecia estar apresentando a jovem ao ministro. Dali a pouco os dois homens partiram na direção da casa do sr. Macgregor, onde o ministro ia passar a noite, e Elizabeth saiu atrás dos outros, a cerca de trinta metros deles. Flory correu até onde ela estava e a alcançou já quase no portão do Clube. “Elizabeth!” Ela se virou, viu que era ele, ficou muito pálida e fez menção de seguir em frente sem dizer nada. Mas a ansiedade de Flory era grande demais, e ele a segurou pelo pulso. “Elizabeth! Eu devo... eu tenho de falar com você!” “Solte o meu braço, por favor!” Ela começou a se debater, mas em seguida parou bruscamente. Dois cristãos de Karen que tinham saído da igreja estavam parados a quase cinqüenta metros dali, olhando para eles na semi-escuridão com um interesse profundo. Flory recomeçou, num tom mais grave: “Elizabeth, eu sei que não tenho o direito de fazê-la parar assim. Mas preciso falar com você. Preciso! Por favor, escute o que eu quero lhe dizer. Por favor, não vá embora!” “O que o senhor está fazendo? Por que está segurando o meu braço? Solte o meu braço neste instante!” “Eu solto... pronto! Mas, por favor, escute o que eu quero dizer! Só me responda uma coisa. Depois do que aconteceu, algum dia você será capaz de me perdoar?” “Perdoar o senhor? Como assim, perdoar o senhor?” “Eu sei que fiquei desonrado. Foi a pior coisa que podia me acontecer! Mas, de certa forma, não foi culpa minha. Você vai entender quando se acalmar. Você acha... não agora, porque foi horrível, mas depois... você acha que será capaz de esquecer isso?” “Eu não sei do que o senhor está falando. ‘Esquecer’? O que isso tem a ver comigo? Achei a cena revoltante, mas eu não tenho nada a ver com ela. E nem consigo imaginar por que o senhor agora resolveu me interrogar a respeito.” Ele quase entrou em desespero diante dessa resposta. O tom e até as palavras que ela usava eram os mesmos que tinha empregado no desentendimento anterior entre eles. A mesma reação. Em vez de dar-lhe ouvidos, ela preferia evitá-lo e ignorá-lo — tratá-lo com desprezo, como se ele não tivesse direito algum de interpelá-la. “Elizabeth! Por favor, responda. Por favor, seja justa comigo! Desta vez é sério. Não tenho nenhuma pretensão que você me aceite logo de volta. É impossível, diante da minha desonra pública. Mas você praticamente prometeu se casar comigo...”
“O quê? Prometi casar-me com o senhor? E quando foi que eu lhe fiz essa promessa?” “Não de viva voz, eu sei. Mas estava praticamente combinado entre nós.” “Nada disso estava combinado entre nós! Acho que o senhor está tendo um comportamento detestável. E agora vou para o Clube. Boa noite!” “Elizabeth! Elizabeth! Escute. Não é justo me condenar sem permitir que eu me defenda. Você sabia do meu passado, e sabia que a minha vida tinha mudado depois que eu a conheci. O que aconteceu hoje foi apenas um acidente. Essa mulher horrenda, que, admito, já foi minha... bem...” “Não vou escutar, não vou escutar essas coisas! Vou embora!” Ele tornou a agarrá-la pelos pulsos, e dessa vez a segurou com firmeza. Os cristãos nativos, por sorte, tinham desaparecido. “Não, não, você vai me escutar! Prefiro ofendê-la profundamente a continuar vivendo nessa incerteza. Ela se prolonga uma semana atrás da outra, um mês atrás do outro, e eu nunca tenho oportunidade de conversar claramente com você. Você parece não saber, ou nem querer saber, o quanto isso me magoa. Mas desta vez você vai me dar uma resposta.” Ela se debateu para livrar-se dele, e tinha uma força surpreendente. Ele nunca vira seu rosto tão furioso e nem sequer o imaginara assim. Ela o detestava tanto que teria batido nele, se estivesse com as mãos soltas. “Deixe-me ir embora! Oh, seu animal, seu monstro, me solte!” “Meu Deus, meu Deus, nós dois lutando assim! Mas o que eu posso fazer? Não posso deixar você ir embora sem me escutar. Elizabeth, você precisa me ouvir!” “Não quero ouvir nada! Não quero falar sobre isso! Que direito o senhor tem de me interrogar? Solte já o meu braço!” “Perdão, perdão! Só uma pergunta. Você... não agora, mas depois, quando essa história terrível tiver sido esquecida... você aceita se casar comigo?” “Não, nunca, nunca!” “Não fale assim! Não diga nada de definitivo. Diga não por enquanto, se preferir, mas daqui a um mês, um ano, cinco anos...” “Eu já não disse que não? Por que o senhor não desiste de uma vez por todas?” “Elizabeth, escute aqui. Tentei mil vezes lhe dizer o quanto você significa para mim. Ah, não adianta falar! Mas tente entender. Eu não lhe disse algumas coisas sobre a vida que levamos aqui? É uma verdadeira morte em vida! O declínio, a solidão, a autocomiseração... Tente compreender o que ela significa e que você é a única pessoa na Terra que pode me salvar disso.” “O senhor vai me deixar ir embora? Por que precisa fazer esta cena horrorosa?” “Não significa nada para você eu dizer que a amo? Não creio que você tenha entendido o que eu quero de você. Se você aceitar, eu me caso com você e prometo nunca lhe encostar nem um dedo. Nem mesmo com isso eu me incomodaria, contanto que você ficasse comigo. Mas não posso mais continuar a viver assim
sozinho, sempre sozinho. Será que você nunca conseguirá me perdoar?” “Nunca, nunca! Eu não me casaria com o senhor nem que fosse o último homem do mundo. Eu preferiria me casar com... com o varredor da rua!” Ela começou a chorar. E ele viu o quanto ela estava decidida. Lágrimas lhe subiram aos olhos. Ele tornou a dizer: “Pela última vez. Lembre que já é alguma coisa ter no mundo uma pessoa que a ama. Lembre que pode encontrar homens mais ricos, mais jovens e melhores do que eu em todos os aspectos, mas nenhum que goste tanto de você. E embora eu não seja rico, pelo menos posso lhe dar um lar. Existe um modo de vida... civilizado, decente...” “Será que já não dissemos tudo?”, interrompeu ela em tom mais calmo. “Agora o senhor quer me soltar, antes que alguém apareça?” Ele soltou os pulsos da jovem. Ele a tinha perdido, sem a menor dúvida. Como uma alucinação, dolorosamente nítida, ele tornou a ver o lar que tinha imaginado para os dois, o jardim, Elizabeth alimentando Nero e os pombos na entrada ao lado dos floxes amarelos como enxofre que cresciam até a altura do ombro dela; e a sala de visitas, com as aquarelas na parede, as balsaminas no jarro de porcelana refletido no verniz da mesa, as estantes e o piano de madeira preta. O piano impossível, mítico, símbolo de tudo que aquele acidente fútil tinha posto a perder! “Você devia ter um piano”, disse ele, em desespero. “Mas eu nem sei tocar piano.” Ele a soltou. Não adiantava mais continuar. E assim que se viu livre ela saiu andando, e chegou a correr para entrar logo nos jardins do Clube, tão odiosa era a companhia dele. Em meio às árvores, ela parou para tirar os óculos e apagar os sinais das lágrimas no rosto. Oh, que monstro, que monstro! E ele ainda machucara seus pulsos de maneira abominável. Ah, que monstro horrendo ele era! Quando ela pensava na aparência que o rosto dele assumira na igreja, amarelado e lustroso com aquela medonha marca de nascença, chegava quase a desejar a sua morte. Não era o que ele tinha feito que a horrorizava. Ele poderia ter cometido milhares de atos abomináveis, que ela o perdoaria. Mas não depois daquela cena vergonhosa e deprimente, e da feiúra diabólica de seu rosto desfigurado naquele momento. No fim das contas, foi a marca de nascença que o desgraçou. Sua tia ficaria furiosa quando soubesse que ela recusara o pedido de Flory. E ainda restava o tio, com seus beliscões — entre um e outro, a vida ali se tornaria impossível para ela. Talvez precisasse voltar solteira para a Inglaterra, no fim das contas. Baratas! Mas não importava. Qualquer coisa — a vida de solteirona, a pobreza, qualquer coisa — era melhor do que a alternativa que tinha. Ela nunca, nunca haveria de se entregar a um homem que fora tão desonrado! Antes a morte, muito antes a morte. Se uma hora mais cedo ela nutrira algum sentimento mercenário, já o esquecera. Nem mesmo lembrava que Verrall a tinha abandonado e
que casar-se com Flory teria salvado as aparências. Só sabia que ele havia caído em desgraça e se transformara em menos do que um homem, e que o detestava, da mesma forma como teria detestado um leproso ou um lunático. O instinto era mais forte que a razão ou até que o seu interesse, e ela não tinha como desobedecer; seria o mesmo que forçar-se a parar de respirar. Quando partiu colina acima, Flory não saiu correndo, mas andava o mais depressa que podia. O que ele tinha a fazer precisava ser feito depressa. Estava escurecendo muito. A Pobre Flo, que até agora ainda não tinha entendido que alguma coisa séria acontecera, trotava junto aos seus calcanhares, choramingando a fim de fazê-lo se sentir culpado pelo pontapé que lhe aplicara. Enquanto ele subia a encosta, o vento aumentou entre as bananeiras, sacudindo as folhas esfrangalhadas e trazendo um cheiro de terra molhada. Ia chover de novo. Ko S’la pusera a mesa do jantar e estava retirando alguns besouros que se tinham suicidado ao atirar-se contra o lampião de querosene. Evidentemente, ainda não ouvira falar da cena ocorrida na igreja. “O jantar do ser sagrado está pronto. O ser sagrado vai jantar agora?” “Não, ainda não. Dê aqui o lampião.” Pegou o lampião, foi para o quarto e fechou a porta. Foi recebido pelo cheiro estagnado de fumaça de cigarro, e à luz branca e irregular do lampião viu os livros mofados e as lagartixas na parede. De maneira que estava de volta àquilo — à sua vida antiga, secreta — depois de tudo, de volta ao ponto de partida. Não seria possível agüentar? Ele já agüentara antes. Sempre havia os paliativos — os livros, o seu jardim, a bebida, o trabalho, as prostitutas, a caça, as conversas com o médico. Não, mas agora aquilo já não era suportável. Depois da chegada de Elizabeth, sua capacidade de sofrer e, acima de tudo, de cultivar esperanças, que ele julgava mortas, haviam retornado à vida. A letargia semiconfortável em que ele vivia até então se rompera. E se ele estava sofrendo agora, coisa bem pior ainda estava por vir. Dali a pouco outra pessoa se casaria com ela. E ele já imaginava o momento em que receberia a notícia! “Já soube que a sobrinha do Lackersteen finalmente se arrumou? Coitado do Fulano, agora vai subir ao altar, que Deus o ajude” etc. etc. E a pergunta em tom casual: “Ah, é mesmo? E quando vai ser?”, e a rigidez no semblante, para fingir que não estava interessado. E depois o dia do casamento se aproximando, e a noite de núpcias... Ah, não! Obsceno, obsceno. Não tire os olhos daí. Obsceno. Puxou a arca de metal que guardava debaixo da cama, tirou dali a sua pistola automática, carregou-a com um pente de balas e empurrou a primeira para a câmara. Ko S’la foi lembrado em seu testamento. Mas ainda restava Flo. Depositou a pistola na mesa e saiu do quarto. Flo brincava com Ba Shin, o filho mais novo de Ko S’la, a sotavento da cozinha, onde os criados tinham deixado um fogo aceso. Ela dançava em volta do menino com os dentinhos à mostra, fingindo que ia mordê-lo, enquanto a criança, com a barriga vermelha pelo brilho das brasas, tentava sem força
atingi-la com o braço, rindo mas um pouco assustada. “Flo! Venha aqui, Flo!” Ela ouviu a ordem e obedeceu, parando junto à porta do quarto. Agora parecia ter percebido que alguma coisa estava errada. Recuou um pouco e parou, olhando com medo para ele, resistindo a entrar no quarto. “Entre logo!” Ela balançou a cauda, mas não saiu do lugar. “Venha, Flo! Minha velha e boa Flo! Venha logo!” Flo foi repentinamente tomada de terror. Ganiu, baixou o rabo e se encolheu toda. “Venha logo, maldita!”, ele gritou e pegou-a pela coleira e a atirou para dentro do quarto, fechando a porta atrás dela. Foi buscar a pistola na mesa. “Agora venha aqui! Faça o que estou mandando!” Ela se agachou e ganiu, pedindo perdão. E ele se condoeu ao ouvi-la. “Venha aqui, garota! Querida Flo! Não vou machucar você. Venha, venha!” Ela se arrastou muito devagar até junto dos pés de Flory, com a barriga colada no chão, ganindo, a cabeça baixa, como se tivesse medo de olhar para ele. Quando ela estava a um metro de distância, ele disparou, despedaçando o crânio do animal. O cérebro destruído da cadela parecia feito de veludo vermelho. Seria assim que ele também ficaria? O coração, então, e não a cabeça. Ouviu os gritos e a correria dos criados — deviam ter ouvido o som do tiro. Às pressas, abriu o paletó e apertou o cano da pistola contra a camisa. Uma lagartixa diminuta, translúcida como uma criatura de gelatina, armava o bote para capturar uma mariposa branca na beira da mesa. Flory puxou o gatilho com o polegar. Quando Ko S’la irrompeu no quarto, num primeiro momento só viu o corpo do cão. Em seguida viu os pés do patrão, com os calcanhares para cima, projetando-se de detrás da cama. Gritou para que não deixassem as crianças entrar no quarto, e todos recuaram na porta, aos gritos. Ko S’la caiu de joelhos ao lado do corpo de Flory, no mesmo instante em que Ba Pe entrava correndo pela varanda. “Ele deu um tiro no peito?” “Acho que sim. Vire ele de costas. Ah, olhe só isso! Vá correndo chamar o médico indiano! Corra!” Havia um buraco bem nítido, não maior que o produzido por um lápis atravessando um mata-borrão, na camisa de Flory. Ele estava obviamente bem morto. Com grande dificuldade, Ko S’la deitou-o na cama, pois os outros criados recusavam-se a tocar no corpo. O médico chegou em apenas vinte minutos. Ouvira um vago relato de que Flory estaria ferido e subira a encosta de bicicleta o mais depressa que pôde, debaixo de uma violenta chuvarada. Jogou a bicicleta no canteiro e entrou correndo pela varanda. Estava sem fôlego e não conseguia ver nada através dos óculos. Tirou-os, olhando com olhos míopes para a cama. “O que foi, meu amigo?”, perguntou, ansioso. “Onde você se feriu?” E então, chegando mais perto,
viu o que havia sobre a cama e emitiu um som dolorido. “Ah, o que foi? O que houve com ele?” “Ele deu um tiro no peito, doutor.” O médico caiu de joelhos, rasgou a camisa de Flory e encostou o ouvido em seu peito. Uma expressão de agonia tomou conta de seu rosto, ele segurou o morto pelos ombros e o sacudiu, como se aquela violência pudesse devolvê-lo à vida. Um dos braços caiu inerme ao lado da cama. O médico tornou a erguê-lo e então, com a mão morta entre as suas, irrompeu subitamente em lágrimas. Ko S’la estava junto ao pé da cama, o rosto castanho sulcado de rugas. O médico se levantou e depois, perdendo o controle por um instante, encostou na cabeceira da cama e caiu num pranto ruidoso e grotesco, de costas para Ko S’la. Seus ombros gorduchos tremiam. Em seguida, recuperou o controle e virou-se de novo. “Como foi que isso aconteceu?” “Ouvimos dois tiros. Foi ele próprio quem atirou, não há dúvida. Não sei por quê.” “E como você sabe que foi por vontade própria? Como é que sabe que não foi um acidente?” Como resposta, Ko S’la limitou-se a apontar calado para o corpo de Flo. O médico pensou por um instante e depois, com mãos gentis e experientes, envolveu o morto no lençol, que amarrou acima da cabeça e em torno dos pés. Com a morte, a marca de nascença desbotara imediatamente, transformando-se apenas numa tênue mancha cinzenta. “Enterre a cachorra agora mesmo. Vou contar ao senhor Macgregor que isto aconteceu por acidente, enquanto ele limpava o revólver. Enterre a cachorra logo. O seu patrão era meu amigo. Não vai ficar escrito no túmulo dele que ele se suicidou.”
*
25. Sorte que o ministro se encontrava em Kyauktada, porque assim ele pôde, antes ainda de tomar o trem de volta na noite seguinte, conduzir o funeral da maneira correta e até fazer um breve discurso sobre as virtudes do morto. Todos os ingleses tornam-se virtuosos depois da morte. “Morte acidental” foi o veredicto oficial (o dr. Veraswami demonstrou, com toda a sua perícia de médico-legista, que as circunstâncias apontavam para um acidente), devidamente inscrito na pedra tumular. Não que alguém tenha acreditado, claro. O verdadeiro epitáfio de Flory foi a observação, emitida em tom muito ligeiro, porque um inglês que morre na Birmânia é logo esquecido: “Flory? Ah, sim, um sujeito moreno, com uma marca de nascença. Ele se suicidou em Kyauktada em 1926. Por causa de uma moça, é o que dizem. Que idiota”. O mais provável é que ninguém, além de Elizabeth, tenha ficado muito surpreso com o ocorrido. O número de suicídios entre europeus na Birmânia é muito alto, e sempre despertam pouca surpresa. A morte de Flory teve vários resultados. O primeiro e o mais importante de todos foi que o dr. Veraswami se viu perdido, exatamente como previra. A glória de ser amigo de um branco — a mesma coisa que o salvara antes — esvaneceu-se. A posição de Flory junto aos demais europeus nunca tinha sido muito boa, é verdade; mas afinal ele era branco e sua amizade sempre conferia algum prestígio. Assim que ele morreu, porém, a desgraça do médico tornou-se líquida e certa. U Po Kyin esperou o devido tempo e então voltou a atacar, com mais violência do que nunca. Precisou de menos de três meses para fixar no espírito de todos os europeus de Kyauktada que o médico era um rematado canalha. Nenhuma acusação pública chegou a ser feita contra ele — U Po Kyin sempre tomou o máximo cuidado para evitar isso. Mesmo Ellis teria tido dificuldade em dizer exatamente de qual canalhice o médico era culpado; ainda assim, todos concordaram que ele era um canalha. Aos poucos, a desconfiança generalizada contra ele se cristalizou numa única expressão birmanesa: shok de. Veraswami, ao que se dizia, era um sujeitinho até bem sabido, lá a seu modo — e nem era um médico ruim, para um nativo, mas era totalmente shok de. Shok de significa, aproximadamente, “indigno de confiança”, e quando um funcionário “nativo” passa a ser considerado shok de, sua carreira chegou ao fim. As temidas insinuações chegaram de algum modo às esferas mais altas, o médico foi rebaixado à posição de cirurgião assistente e transferido para o Hospital Geral de Mandalay. Ainda trabalha lá, e o mais provável é que lá permaneça para sempre. Mandalay é uma cidade especialmente desagradável — poeirenta e quente além do tolerável, e dizem que só produz cinco coisas, todas com a inicial P, a saber: pagodes, párias, porcos, padres e prostitutas — e a rotina do hospital é tenebrosa. O médico mora perto do terreno do hospital num pequeno bangalô que é um verdadeiro forno, com uma cerca de ferro corrugado em torno do seu terreninho, e à noite ainda
atende uma clientela particular para complementar seu reduzido salário. Entrou para um clube de segunda linha freqüentado por advogados indianos, cuja glória é a presença de um único membro europeu — um eletricista de Glasgow chamado Macdougall, que foi demitido por bebedeira da Companhia de Navegação do Irrawaddy e que atualmente mal-e-mal ganha a vida com uma oficina de conserto de automóveis. Macdougall é um sujeito truculento e maçante, cujos únicos interesses na vida são dínamos e uísque. O médico, que nunca percebe como um branco pode ser um idiota, tenta toda noite travar com ele o que ainda chama de “conversa cultivada”; mas os resultados são sempre muito insatisfatórios. Ko S’la recebeu quatrocentas rupias de herança graças ao testamento de Flory, e junto com a família montou uma casa de chá no bazar. Mas a casa de chá foi à falência, como não poderia deixar de ser, com as duas mulheres brigando o tempo todo, e Ko S’la e Ba Pe viram-se obrigados a voltar a trabalhar como criados. Ko S’la era um ótimo serviçal. Além das sempre úteis artes da cafetinagem, de lidar com agiotas, de acomodar o patrão bêbado na cama e de preparar no dia seguinte o remédio contra ressaca conhecido como “prairie oyster” (uma gema de ovo, molho inglês, suco de tomate, vinagre e pimenta), ainda sabia costurar, cerzir, recarregar cartuchos, tratar de cavalos, passar ternos a ferro e decorar a mesa de jantar com lindos e complexos desenhos feitos com folhas recortadas e espigas secas de arroz. Valia de longe cinqüenta rupias por mês. Mas ele e Ba Pe tinham adquirido hábitos preguiçosos a serviço de Flory e viviam sendo demitidos dos empregos. Passaram um ano em extrema pobreza, o pequeno Ba Shin contraiu uma tosse e por fim tossiu até morrer numa noite sufocante de calor. Ko S’la trabalha hoje como ajudante do criado de um corretor de arroz de Rangoon, casado com uma mulher neurótica que passa o tempo todo produzindo kit-kit, e Ba Pe tornou-se pani-wallah na mesma casa, recebendo dezesseis rupias por mês. Ma Hla May foi parar no bordel de Mandalay. Sua beleza extinguiu-se quase toda, seus clientes só lhe pagam quatro annas e às vezes ainda lhe dão socos e pontapés. Talvez mais amargamente do que qualquer outra pessoa, ela sente falta dos bons tempos em que Flory estava vivo, quando não teve o bom senso de economizar pelo menos uma parte do dinheiro que extorquira dele. U Po Kyin realizou todos os seus sonhos, menos um. Depois da desonra do médico, era inevitável que fosse admitido no Clube, e de fato foi, a despeito dos amargos protestos de Ellis. No final das contas, porém, os demais europeus ficaram muito satisfeitos por tê-lo admitido, porque U Po Kyin foi um acréscimo tolerável ao Clube. Não aparecia com muita freqüência, tinha modos educados, pagava as bebidas com largueza e quase instantaneamente se transformou num brilhante jogador de bridge. Alguns meses depois, foi transferido de Kyauktada e promovido. Por um ano inteiro, até se aposentar, permaneceu no cargo de vice-comissário, e só durante esse último ano acumulou vinte mil rupias em subornos. Um mês depois de se aposentar, foi convocado a um durbar em Rangoon, a fim de receber uma
condecoração que lhe fora conferida pelo governo indiano. Foi uma cena impressionante, esse durbar. Na plataforma, decorada com flores e bandeiras, estava sentado o governador, de fraque, numa espécie de trono, tendo atrás de si um cortejo de ajudantes-de-ordens e secretários. Por todo o salão, como reluzentes bonecos de cera, distribuíam-se os sowars altos e barbados da guarda pessoal do governador, tendo nas mãos lanças decoradas com pendões. Do lado de fora, uma banda fazia soar suas fanfarras de tempos em tempos. A platéia estava muito colorida, com os ingyis brancos e os xales cor-de-rosa das damas birmanesas, e na entrada do salão cem homens, ou mais, esperavam para receber suas condecorações. Havia funcionários birmaneses vestindo vistosos pasos de Mandalay, indianos com pagris de lamê dourado, e funcionários britânicos portando uniformes de gala completos com sonoras bainhas metálicas para as espadas, além de velhos thugyis com os cabelos brancos amarrados atrás da cabeça e dahs em bainhas prateadas pendendo dos ombros. Numa voz aguda e clara, um secretário lia a lista das comendas, que variavam da Ordem do Império Indiano a diplomas de honra ao mérito emoldurados em prata lavrada. Chegou a vez de U Po Kyin, e o secretário leu em seu pergaminho: “A U Po Kyin, vice-comissário assistente, aposentado, por longos e leais serviços prestados e especialmente por sua ajuda no combate a uma perigosa revolta no distrito de Kyauktada”... e assim por diante. Em seguida, dois guardas especialmente postados para isso ajudaram U Po Kyin a se erguer, ele caminhou bamboleando até a plataforma, inclinou-se o máximo que sua barriga permitia e foi devidamente condecorado e congratulado, enquanto Ma Kin e outros admiradores aplaudiam como loucos e acenavam das galerias com seus xales. U Po Kyin conseguira tudo que estava ao alcance de um mortal. Agora tinha chegado a hora de se preparar para o outro mundo — em suma, de começar a construir pagodes. Infelizmente, porém, foi nesse ponto que seus planos começaram a dar errado. Apenas três dias depois do durbar do governador, antes que um só tijolo desses pagodes da reparação pudesse ser assentado, U Po Kyin sofreu uma apoplexia e morreu sem tornar a dizer palavra. Não existe blindagem contra o destino. Ma Kin ficou de coração partido diante da calamidade. Mesmo que ela mandasse construir os pagodes, isso de nada valeria a U Po Kyin; só se pode adquirir mérito através de atos próprios. Ela sofre muito quando pensa no lugar onde U Po Kyin deve estar agora — vagando por sabe Deus que inferno subterrâneo de chamas, trevas, serpentes e espíritos malignos. Ou, mesmo que ele tenha conseguido escapar ao pior, seu outro medo podia ter-se realizado e ele teria voltado à terra na forma de um rato ou de um sapo. Talvez, naquele exato momento, ele estivesse sendo devorado por uma cobra. Quanto a Elizabeth, as coisas saíram bem melhor do que ela esperava. Depois da morte de Flory, a sra. Lackersteen, abandonando de vez qualquer fingimento, declarou abertamente que não havia homens naquele lugar horrível e que sua única esperança seria passar alguns meses em Rangoon ou Maymyo. Mas não podia mandar Elizabeth sozinha para uma dessas cidades, e ir com ela equivaleria, na prática, a condenar seu marido à morte por delirium tremens. Meses se passaram, as chuvas chegaram ao clímax, e Elizabeth acabara de se decidir a finalmente voltar para a Inglaterra, sem tostão nem marido, quando... o sr. Macgregor pediu sua mão. Ele já vinha fazendo planos nesse sentido havia muito; na verdade, só estava esperando que um intervalo decente de tempo transcorresse depois da morte de Flory. Elizabeth aceitou de bom grado. Ele era um tanto velho, talvez, mas não se pode desprezar um vice-comissário — um partido certamente muito melhor do que Flory. Os dois vivem muito felizes. O sr. Macgregor sempre foi um homem de bom coração, porém se tornou mais humano e simpático depois do casamento. Sua voz soa menos trovejante e desistiu dos exercícios matinais. Elizabeth amadureceu com uma rapidez surpreendente, e certa secura de modos que sempre a acompanhou tornou-se mais acentuada. Seus criados sentem verdadeiro terror dela, embora ela não fale birmanês. Tem um conhecimento profundo da Lista Civil, organiza pequenos jantares encantadores e sabe exatamente como pôr as mulheres dos funcionários subalternos no devido lugar — em suma, preenche com total sucesso a posição para a qual a natureza desde o início a destinava, a de burra memsahib.
George Orwell
O melhor da literatura para todos os gostos e idades


















