



Biblio VT




As obras contemporâneas de investigação sociológica têm um formato bem definido. Regra geral, começam por apresentar uma análise, acompanhada de estatísticas, tabelas da população, a diminuição da criminalidade nas comunidades de congregacionalistas, o aumento da histeria entre os polícias, e outros factos do mesmo calibre; e concluem com um capítulo que tem geralmente o título de «Remédios». Ora, é quase inteiramente devido a este método cuidadoso, sólido e científico que nunca é possível identificar os «Remédios». Porque este esquema de investigação de estilo medicinal é um disparate; é o primeiro grande disparate da sociologia. Chama-se a isto identificar a doença antes de propor a terapia; acontece porém que, em razão da própria definição e dignidade do homem, nas questões sociais, temos de propor a terapia antes de identificarmos a doença.
A falácia é uma das cinquenta que resultam da fúria moderna pelas metáforas biológicas ou corpóreas. Dá tanto jeito falar do Organismo Social como falar do Leão Britânico1; acontece que a Grã-Bretanha não é, nem um organismo, nem é um leão. A partir do momento em que começamos a conferir à nação a unidade e a simplicidade de um animal, começamos a sair dos carretos; não é pelo facto de os homens serem bípedes que cinquenta homens são uma centopeia. Foi isto que deu origem, por exemplo, ao hiante absurdo que consiste em se falar constantemente em «nações jovens» e «nações moribundas», como se uma nação tivesse um tempo de vida fixo e físico. Assim, há quem diga que a Espanha entrou num período de declínio senil – que é como quem diz que começaram a cair os dentes à Espanha; ou que o Canadá não tarda a produzir uma literatura – que é o mesmo que dizer que, um dia destes, o Canadá vai deixar crescer o bigode. As nações são constituídas por pessoas; e pode muito bem acontecer que a primeira geração de uma nação seja decrépita e a décima milésima extremamente vigorosa. É esta mesma falácia que cometem aqueles que vêem na ampliação dos territórios nacionais um simples aumento em sabedoria e estatura, e um acréscimo nos favores de Deus e dos homens. Com efeito, estas pessoas nem chegam a alcançar a subtileza da comparação com o corpo humano; pois não querem saber se o império estará a crescer em altura como um adolescente ou apenas a engordar como um velho. Contudo, o pior caso dos erros que resultam desta moda das comparações físicas é aquele de que estamos a falar: o hábito de descrever exaustivamente um problema social, propondo a seguir um medicamento social para o mesmo.
Ora bem, é um facto que, nos casos de quebra física, começamos por falar da doença. Mas temos uma excelente razão para o fazer; com efeito, embora possamos ter dúvidas sobre a forma como se deu a referida quebra física, não temos dúvida nenhuma sobre a forma da correspondente recuperação. Médico nenhum se lembra de propor um novo tipo de homem, com uma nova disposição dos olhos ou dos braços. É certo que, por razões imperiosas, o hospital poderá mandar um homem para casa com uma perna a menos; mas não lhe ocorre (num arroubo de criatividade) enviar o mesmo homem para casa com uma perna a mais. A medicina contenta-se com o corpo humano normal, e a única coisa que lhe interessa é restabelecê-lo.
Mas as ciências sociais estão longe de se contentar com a alma humana normal; elas têm à venda uma série de almas imaginárias. Assim, o idealista dirá: «Estou farto de ser puritano; a partir de agora, vou ser pagão»; ou então: «Do lado de lá deste negro período de individualismo, avisto o luminoso paraíso do colectivismo.» Ora, nos males do corpo não encontramos este género de discordâncias relativamente ao ideal; o paciente poderá não querer tomar quinino, mas quer de certeza recuperar a saúde. Ninguém se lembra de dizer: «Estou farto desta dor de cabeça; dêem-me uma dor de dentes»; ou então: «O único remédio para esta gripe russa é um sarampo alemão»; ou ainda: «Do lado de lá deste negro período de catarro, avisto o luminoso paraíso do reumatismo.» Pelo contrário, a grande dificuldade dos nossos problemas públicos reside no facto de algumas pessoas pretenderem recorrer a remédios que, para outras pessoas, são males ainda maiores; proporem como estados de saúde situações que outros designariam decididamente por estados de doença. O Sr. Belloc2 observou certa vez que a ideia de propriedade lhe era tão cara como os dentes que tinha na boca; já para o Sr. Bernard Shaw, a propriedade não é um dente, mas uma dor de dentes. Lord Milner3 tentou sinceramente introduzir a eficácia germânica neste país; muitos de nós, porém, preferíamos o sarampo alemão. O Dr. Saleeby4 gostaria honestamente de contrair a eugenia; por mim, preferia contrair reumatismo.
E este é o facto mais notório e o facto dominante da moderna discussão das questões sociais: o facto de a controvérsia não dizer respeito apenas às dificuldades, mas também aos objectivos. Estamos todos de acordo acerca do mal; é relativamente à definição do bem que estamos dispostos a arrancar os olhos uns aos outros. Todos reconhecemos que uma aristocracia indolente é um mal; mas estamos longe de afirmar unanimemente que uma aristocracia activa seria um bem. Todos nos sentimos irritados com os sacerdotes ímpios; mas alguns de nós sentiríamos profunda aversão se deparássemos com um sacerdote verdadeiramente pio. Toda a gente se indigna com a circunstância de termos um exército fraco, incluindo as pessoas que se indignariam ainda mais se o nosso exército fosse forte. A questão da sociedade é exactamente o oposto da questão da saúde. Diversamente dos médicos, nós não estamos em desacordo acerca da natureza da doença, concordando embora acerca da natureza da saúde; pelo contrário, todos nós concordamos que a Inglaterra está doente, mas aquilo a que metade de nós chamaria um estado de saúde pujante do nosso país repugnaria à outra metade. Os insultos públicos são de tal maneira proeminentes e pestilentos, que arrastam as almas generosas numa unanimidade fictícia; esquecemos que, embora estejamos de acordo quanto aos insultos, discordamos profundamente em matéria de elogios. O Sr. Cadbury e eu não temos dificuldade em concordar sobre o que é um pub inaceitável; mas teríamos uma lamentável altercação se nos encontrássemos diante de um pub aceitável.
Defendo, pois, que o método sociológico habitual – começar por dissecar a pobreza abjecta ou por catalogar a prostituição – é perfeitamente inútil. Ninguém aprecia a pobreza abjecta; o problema surge quando começamos a discutir a pobreza independente e digna. Ninguém aprecia a prostituição; mas nem todos gostamos da pureza. A única maneira de discutirmos os males sociais é passarmos imediatamente ao ideal social. Todos conseguimos identificar a loucura nacional; mas o que é a sanidade nacional? Dei a este livro o título de Disparates do mundo, e não é difícil identificar o conteúdo do mesmo. Pois o grande despropósito do mundo consiste em não perguntarmos qual é o propósito.
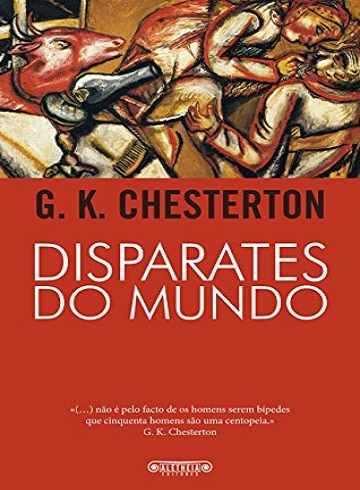
II
PRECISA-SE: UM HOMEM QUE NÃO SEJA PRAGMÁTICO
Há uma piada filosófica muito conhecida que pretende tipificar a inutilidade das intermináveis discussões dos filósofos; refiro-me à piada que consiste em perguntar o que nasceu primeiro, se o ovo ou a galinha. Não estou certo de que, adequadamente respondida, se trate de uma pergunta tão fútil como parece. Mas não me interessa agora entrar num daqueles profundos debates metafísicos e teológicos do género da discussão sobre o ovo e a galinha – que é um exemplo frívolo mas muito adequado dos mesmos. Os materialistas evolutivos são adequadamente representados na visão de que todas as coisas têm a sua origem num ovo, num gérmen oval impreciso e monstruoso, que se pôs a si próprio por acidente. A outra escola de pensamento, a escola sobrenatural à qual eu próprio adiro, poderá ser tipificada pela tese de que este mundo redondo que habitamos mais não é do que um ovo chocado por uma ave sagrada e não gerada, a pomba mística dos profetas. Mas é para funções bastante mais humildes que faço aqui apelo ao tremendo poder desta distinção. Esteja ou não no começo da nossa cadeia mental, é absolutamente necessário que a ave se encontre no termo da referida cadeia. A ave é aquilo para que se aponta – não com uma arma, mas com uma varinha que dá vida. O que é essencial a um raciocínio correcto é não considerar que o ovo e a ave são idênticas ocorrências cósmicas, que recorrem eternamente de forma alternada; que são um simples padrão fixo. Pois um é o meio e o outro o fim; e pertencem a mundos mentais distintos. Esquecendo por agora as complicações do pequeno-almoço, em sentido elementar, o ovo só existe para produzir a galinha; mas a galinha não existe apenas para produzir mais um ovo – também pode existir para se divertir, para louvar a Deus, ou até para dar ideias a um dramaturgo francês. Sendo uma vida consciente, a galinha tem, ou pode ter, valor em si mesma. Ora, a política moderna é prenhe num esquecimento ruidoso: o esquecimento de que o objectivo de todas as complexidades e de todos os compromissos é precisamente a produção desta vida feliz e consciente. Estamos constantemente a falar de homens úteis e de instituições funcionais; ou seja, a única coisa que nos interessa nas galinhas é o facto de serem capazes de pôr ovos. Em vez de tentarmos produzir uma ave ideal – a águia de Zeus, o Cisne de Avon5, ou o que cada um preferir –, limitamo-nos a falar do processo e do embrião. Ora, o processo em si mesmo, divorciado do seu objectivo divino, torna-se duvidoso e até mórbido: o veneno pode entrar em qualquer embrião, e a nossa política está cheia de ovos podres.
O idealismo consiste apenas em considerar todas as coisas do ponto de vista da respectiva essência prática. O idealismo significa apenas que temos de olhar para um atiçador como um instrumento destinado a atiçar, antes de discutirmos a sua utilidade como arma para espancar as mulheres; que temos de perguntar se um ovo serve para a criação de aves antes de decidirmos que não serve para a gestão política. Mas sei perfeitamente que este interesse de base nas questões teóricas (que mais não é do que a busca do fim) expõe uma pessoa à acusação barata de perder tempo a tocar harpa enquanto Roma está a arder. Há uma escola – de que Lord Rosebery6 é lídimo representante – que tem procurado substituir os ideais morais e sociais que foram até agora a motivação da acção política por uma coerência ou completude geral do sistema social, que foi apelidada de «eficácia». Não estou bem certo de qual é a doutrina secreta desta seita na matéria; mas, tanto quanto consigo compreendê-la, a «eficácia» significa que temos de saber tudo acerca de uma máquina, excepto aquilo para que ela serve. Surgiu no nosso tempo uma moda muito peculiar: a ideia de que, quando as coisas estão a correr muito mal, do que nós precisamos é de um homem pragmático. Ora, é bastante mais correcto afirmar que, quando as coisas estão a correr muito mal, do que nós precisamos é de um homem que não seja pragmático; precisamos, pelo menos, de um teórico. Um homem pragmático é um homem que só conhece a prática do dia-a-dia, o modo como as coisas habitualmente funcionam. Quando as coisas não funcionam, temos de recorrer ao pensador, ao homem que tem algum conhecimento da razão pela qual elas funcionam. É má ideia tocar harpa enquanto Roma está a arder; mas é uma excelente ideia estudar hidráulica enquanto Roma está a arder.
Nessa altura, é necessário abandonar o agnosticismo diário e procurar rerum cognoscere causas. Quando um aeroplano tem uma leve indisposição, é natural que um habilidoso consiga repará-lo; mas quando se trata de uma doença grave, é bastante mais provável que seja necessário ir buscar um velho mestre distraído e de cabelos no ar a uma universidade ou a um laboratório, e pedir-lhe que analise o defeito. E, quanto mais complicado for o problema, mais distraído será o teórico capaz de lidar com ele, e mais cabelos brancos terá; em alguns casos, é muito possível que seja necessário recorrer aos serviços do homem (provavelmente louco) que inventou a nave para saber o que ela tem. A «eficácia» é fútil pela mesma razão por que os homens fortes, a vontade de poder e o super-homem são fúteis: porque só lidam com as acções depois de elas terem sido feitas, porque não possuem uma filosofia dos incidentes antes de eles acontecerem; por essa razão, não têm hipótese de escolha. Um acto só pode ser bem ou mal sucedido depois de ter sido concluído; para ser iniciado, tem de ser bom ou mau em abstracto. Ninguém apoia um vencedor; porque, enquanto está ele a ser apoiado, não é vencedor. Ninguém luta do lado dos vencedores; luta-se para se ver quem serão os vencedores. Se uma operação teve lugar, tal operação foi eficaz. Se um homem foi assassinado, o assassínio foi eficaz. Um sol tropical é tão eficaz na promoção da moleza nas pessoas como um capataz do Lancashire na promoção da produtividade. Maeterlinck7 é tão eficaz a encher um homem de estranhos tremores espirituais como os Srs. Crosse e Blackwell8 a encherem-no de compota. Mas tudo depende daquilo de que a pessoa quer a encham. Sendo um céptico moderno, é bem provável que Lord Rosebery prefira os tremores espirituais; sendo cristão ortodoxo, eu prefiro a compota. Mas ambos são eficientes depois de terem produzido o seu efeito; e não são eficientes enquanto não o tiverem produzido. Um homem que se dedique muito a pensar no sucesso acabará por ser um sentimentalão indolente, porque estará sempre a olhar para o passado. Se apenas lhe interessa a vitória, chegará sempre atrasado ao campo de batalha. Ao homem de acção apenas interessa o idealismo.
No contexto das dificuldades pelas quais a Inglaterra passa hoje, esta definição do ideal é uma questão muito mais premente e muito mais prática do que quaisquer planos ou propostas imediatas. Porque o actual caos deve-se ao esquecimento geral daquilo que era o objectivo inicial dos homens. Um homem não exige aquilo que quer, mas aquilo que lhe parece que pode conseguir; as pessoas não tardam a esquecer-se do que ele inicialmente queria e, após uma carreira política vigorosa e bem sucedida, ele próprio se esquece do que queria. O resultado é um extravagante tumulto de soluções de compromisso, um pandemónio de pis-aller. Ora, este género de versatilidade não impede apenas a consistência heróica, impede também um verdadeiro acordo prático. Uma pessoa só consegue identificar a meia distância entre dois pontos se estes dois pontos estiverem imóveis; podemos chegar a um acordo entre dois litigantes que não conseguem alcançar o que desejam, mas só poderemos chegar a esse acordo se eles nos disserem o que desejam. O dono de um restaurante prefere certamente que os seus clientes lhe digam claramente o que querem comer – ainda que seja guisado de íbis ou bifes de elefante – do que se deixem ficar sentados à mesa com a cabeça apoiada nas mãos, entretidos a calcular a quantidade de comida que haverá dentro do restaurante. Quase todos tivemos já de sofrer a presença daquelas senhoras que, devido a um altruísmo perverso, dão mais trabalho que qualquer egoísta: que solicitam insistentemente a parte do frango de que ninguém gosta e atropelam toda a gente para se sentarem na cadeira mais incómoda. Quase todos participámos em festas e excursões onde fervilhava este género de modéstia. É por razões bastante mais básicas que as destas mulheres admiráveis que os nossos políticos – que são homens pragmáticos – mantêm as coisas no mesmo estado de confusão, devido ao mesmo tipo de dúvida sobre as suas reais necessidades. Nada contribui tanto para evitar um acordo como um emaranhado de pequenas rendições. Sentimo-nos desorientados com tantos políticos que se mostram favoráveis a um sistema educativo secularizado, mas que consideram inútil lutar por ele; que desejam impor a total proibição do consumo de bebidas alcoólicas, mas têm a certeza de que não devem exigi-la; que lamentam o ensino obrigatório, mas o mantêm com resignação; e que acham que a lei devia abrir a posse da terra aos camponeses, pelo que votam no contrário. É este oportunismo atordoado e confuso que impede que as coisas se façam. Se os nossos estadistas fossem visionários, talvez se conseguisse fazer alguma coisa na prática; se exigirmos alguma coisa em abstracto, talvez consigamos alguma coisa em concreto. Mas, tal como as coisas estão, não só se torna impossível conseguirmos o que queremos, como se torna impossível conseguirmos sequer uma parte disso, porque ninguém consegue assinalar o que queremos como que num mapa. Desapareceu por completo aquele estilo preciso, duro até, que presidia às negociações. Esquecemo-nos de que, para chegar a uma solução «de compromisso», temos, entre outras coisas, de tomar essa atitude rígida e sonora que consiste em nos «comprometermos». A moderação não é uma coisa vaga; é tão definida como a perfeição. O ponto intermédio é tão fixo como os extremos.
Se um pirata me obrigar a avançar por uma prancha que termina num mergulho em alto mar, é em vão que me propõe, como solução de compromisso, que eu percorra apenas uma distância razoável. Pois é precisamente acerca da extensão de tal distância razoável que o pirata e eu discordamos. Com efeito, a prancha termina num ponto preciso; ora, o que é razoável para mim é deter-me aquém desse ponto, enquanto o que é razoável para o pirata é que eu avance para além dele. Mas esse ponto é de uma extraordinária precisão geométrica; e é tão abstracto como um dogma teológico.
III
OS NOVOS HIPÓCRITAS
Mas esta nebulosa cobardia política recente tornou inútil a velha prática inglesa da solução de compromisso. As pessoas começaram a sentir-se aterrorizadas com todo o tipo de melhoramentos, pelo simples facto de serem completos. A circunstância de uma pessoa conseguir o que quer, ou de se levar alguma coisa a cabo, parece-lhes utópica e revolucionária. Antigamente, uma solução de compromisso significava que meio pão era preferível a pão nenhum; para o estadista moderno, uma solução de compromisso significa que, no fundo, meio pão é preferível ao pão todo.
Como exemplo para precisar a discussão, refiro o caso das nossas eternas leis educativas. A verdade é que conseguimos inventar um novo género de hipócrita. Os hipócritas de outros tempos, como Tartufo e Pecksniff9, eram homens cujos objectivos eram na realidade mundanos e pragmáticos, embora eles quisessem fazê-los passar por religiosos; os novos hipócritas são homens cujos objectivos são na realidade religiosos, embora eles queiram fazê-los passar por mundanos e pragmáticos. Assim, o reverendo Brown, ministro metodista, declara firmemente que os credos não lhe interessam, e que só lhe importa a educação, quando a verdade é que tem a alma repleta de um radical metodismo. Por sua vez, o reverendo Smith da Igreja de Inglaterra explica graciosamente, e à maneira de Oxford, que a única coisa que lhe interessa é a prosperidade e a eficácia das escolas, quando a verdade é que alberga dentro dele uma violenta paixão pela paróquia. Em minha opinião, estes reverendos cavalheiros têm má opinião sobre si próprios; em minha opinião, são mais piedosos do que julgam. Ao contrário do que muitos pensam, eles não eliminam a teologia por ser um erro; limitam-se a ocultá-la como se fosse um pecado. Na realidade, o Dr. Clifford tem tanto interesse na criação de um ambiente teológico como Lord Halifax; a única diferença é que o ambiente que lhe interessa é outro. Se o Dr. Clifford solicitasse, muito simplesmente, a instauração do puritanismo e Lord Halifax a do catolicismo, talvez conseguissem alguma coisa. Julgo que todos temos imaginação suficiente para reconhecer a dignidade de outra religião, como o islão ou o culto de Apolo. Eu estou perfeitamente disposto a respeitar a fé dos outros; mas é pedir muito exigirem-me que lhes respeite as dúvidas, as hesitações, as ficções mundanas, as invenções e as discussões políticas. A maior parte dos não conformistas10 com sensibilidade para a história de Inglaterra é capaz de ver no arcebispo da Cantuária, enquanto tal, uma figura poética e nacional; só ficam irritados – e com razão – quando ele faz de racional estadista britânico. A maioria dos anglicanos que apreciam a coragem e a simplicidade está disposta a admirar o Dr. Clifford enquanto ministro da igreja baptista; é quando ele diz que é um simples cidadão que ninguém consegue acreditar nele.
Mas a situação é ainda mais curiosa. Pois o argumento que era usado a favor da imprecisão doutrinal era o de que pelo menos nos impedia de ser fanáticos. A verdade porém é que nem isso. Pelo contrário, tal imprecisão cria e renova o fanatismo, e com uma força que lhe é bastante peculiar. E isto é, a um tempo, tão estranho e tão verdadeiro, que solicito ao leitor um pouco mais de atenção ao caso.
Há pessoas que não apreciam a palavra «dogma». Felizmente, essas pessoas são livres e têm alternativas. Há duas coisas, e duas coisas apenas, capazes de ocupar o espírito humano: o dogma e o preconceito. A Idade Média era um período racional, um período doutrinário; a nossa época é, na melhor das hipóteses, uma época poética, uma época de preconceitos. Uma doutrina é um ponto definido; um preconceito é uma orientação. Dizer que se podem comer vacas mas não se podem comer pessoas é uma afirmação doutrinal. Dizer que se deve comer o mínimo possível seja do que for é um preconceito; a que por vezes também se chama ideal. Ora, uma orientação é sempre muito mais excêntrica que um plano. Eu prefiro que me dêem um mapa, por muito arcaico que seja, da estrada para Brighton, do que me recomendem genericamente que volte à esquerda. As linhas rectas, se não forem paralelas, acabam por se encontrar; já as curvas podem recuar interminavelmente. Um par de namorados pode passear ao longo da fronteira entre a França e a Alemanha, um do lado e outro do outro, enquanto não lhes ordenarem vagamente que não se aproximem um do outro. E este exemplo é uma parábola que descreve com grande rigor a forma como as indicações vagas distanciam e separam os homens, como se os mergulhassem numa espessa neblina.
É verdade que um credo une os homens; mas uma diferença de credo também os une, desde que seja uma diferença clara. Os limites unem os homens. É bem provável que um muçulmano magnânimo e um cavaleiro cruzado se sentissem mais próximos um do outro, pelo facto de ambos aderirem a dogmas, do que quaisquer dois agnósticos apátridas que se sentam nos bancos da capela do Sr. Campbell. «Eu afirmo que Deus é Uno» e «Eu afirmo que Deus é Uno mas também é Trino» pode ser o começo de uma bela e conflituosa amizade. Mas o nosso tempo transforma estas convicções em tendências, recomendando ao defensor da Trindade que opte pela multiplicidade enquanto tal (dado que tem essa «inclinação»), e este acaba por inventar uma Trindade de trezentas e trinta e três pessoas. Entretanto, transforma o muçulmano num monista, o que constitui uma temível queda intelectual, e obriga essa pessoa, que era sã de mente, a admitir, não só que há um só Deus, mas que não há mais ninguém. E, depois de cada um deles ter passado um longo período a seguir o brilho do próprio nariz (como o Dong11), voltam à cena, o cristão como politeísta e o muçulmano como panegoísta, ambos loucos e muito mais incapazes de se compreenderem mutuamente do que quando se conheceram.
É precisamente isto que se passa no campo político. A nossa imprecisão política não aproxima os homens, divide-os. Quando o céu está limpo, um homem não tem dificuldade em caminhar à beira de um precipício; mas quando está nevoeiro nem sequer se abeira dele. Assim, um conservador poderá aproximar-se do socialismo se souber o que este é; mas, se lhe disserem que o socialismo é um espírito, uma atmosfera sublime, uma nobre e indefinível tendência, nesse caso, mantém-se à distância, e faz muito bem. A uma afirmação pode-se responder com um argumento; mas a uma tendência só se pode responder com uma saudável intolerância. Disseram-me que o método de luta corpo-a-corpo dos japoneses não consiste em atacar subitamente, mas em ceder subitamente. Esta é uma das muitas razões que me levam a não gostar da civilização japonesa; usar a rendição como arma é uma das piores componentes do espírito do Oriente. Não há certamente força alguma tão difícil de combater como a força que é fácil de conquistar: a força que cede e depois regressa. Tal é a força de um grande preconceito impessoal, a força que possui o mundo moderno em tantos domínios. E contra esta força não há arma possível, à excepção de uma rígida sanidade de aço, da decisão de não prestar atenção a modas e de não se deixar infectar por doenças.
Em suma, a fé humana racional tem de se armar de preconceitos num tempo de preconceitos, da mesma maneira que se armou de lógica num tempo de lógica. Mas a diferença entre estes dois métodos mentais é profunda e inequívoca. E o essencial desta diferença é o seguinte: os preconceitos são divergentes, enquanto os credos estão sempre em colisão. Os crentes chocam uns com os outros, enquanto os preconceituosos se afastam uns dos outros. Um credo é uma coisa colectiva, e até os pecados correspondentes são sociáveis. Um preconceito é uma coisa privada, e até a correspondente tolerância é misantrópica. É o que se passa com as divisões que nos separam: não se cruzam. O jornal dos conservadores e o jornal dos radicais não respondem um ao outro: ignoram-se um ao outro. A controvérsia genuína, uma controvérsia séria mantida na presença de um público comum, tornou-se hoje uma coisa muito rara. Porque o homem que a ela se dedica com sinceridade é acima de tudo um bom ouvinte. O verdadeiro entusiasta nunca interrompe: ouve os argumentos do inimigo com a mesma atenção com que um espião ouve as combinações do inimigo. Mas, se o leitor tentar manter uma discussão com um jornal que defenda ideias políticas contrárias às suas, verificará que não há meio termo entre a violência e a fuga; que a única resposta que recebe são insultos ou silêncios. O moderno director está proibido de ter aquele ouvido atento que acompanha a língua honesta. Pode ser surdo e silencioso – e a isso chama-se dignidade; ou ser surdo e ruidoso – e a isso chama-se jornalismo contundente. Em nenhum destes casos há controvérsia; porque o objectivo dos actuais combatentes partidários é disparar de fora do alcance do tiro.
O único remédio lógico para tudo isto é a afirmação de um ideal humano. Ao tratar deste assunto, vou esforçar-me por ser o menos transcendental e o mais consistente com a razão que puder; bastará dizer que, a não ser que disponhamos de uma doutrina sobre um homem divino, todos os abusos serão desculpáveis, dado que a evolução pode transformá-los em usos. O cientista plutocrata não terá dificuldade nenhuma em defender que a humanidade se adaptará a quaisquer condições que nesta altura consideramos perversas. Os tiranos antigos invocavam o passado; os novos tiranos invocarão o futuro. A evolução produziu o caracol e o mocho; a evolução também será capaz de produzir um operário que precisa de tão pouco espaço como um caracol e de tão pouca luz como um mocho. O empregador já não se incomodará em mandar o negro trabalhar para baixo da terra, porque o negro não tardará em se transformar num animal subterrâneo, como por exemplo uma toupeira. Já não se incomodará em mandar o mergulhador conter a respiração no fundo do mar, porque o mergulhador não tardará em se transformar num animal das profundezas marinhas. Os homens não precisam de se incomodar a alterar as condições do meio, porque as condições do meio não tardarão em alterar os homens. Pode-se bater na cabeça até ela ficar reduzida ao tamanho do chapéu. Não é preciso quebrar os grilhões do escravo; basta quebrar o escravo até ele se esquecer dos grilhões. A única reacção adequada a toda esta plausível argumentação moderna em favor da opressão é que há um ideal humano permanente, que não pode ser baralhado nem destruído. O homem mais importante do mundo é o homem perfeito que não existe. A religião cristã exprimiu de forma contundente a radical sanidade do Homem, diz a Escritura, que julgará a verdade encarnada e humana. A nossa vida e as nossas leis não são julgadas pela superioridade divina, mas apenas pela perfeição humana. A medida é o homem, diz Aristóteles; e será o Filho do Homem, diz a Escritura, a julgar os vivos e os mortos.
Assim, pois, não é a doutrina que causa dissensões; pelo contrário, só a doutrina pode curar as nossas dissensões. Mas é preciso saber, ainda que em termos aproximados, que forma abstracta e ideal de Estado e de família saciará a fome humana; e isto, independentemente de sermos ou não capazes de a alcançar por completo. Mas, quando nos pomos a perguntar quais são as necessidades do homem normal, qual é o desejo de todas as nações, o que é a casa ideal, ou a estrada ideal, ou a legislação, ou a república, ou a realeza ou o sacerdócio ideal, somos confrontados com uma estranha e irritante dificuldade, que é peculiar ao nosso tempo; temos portanto de fazer aqui uma paragem temporária, a fim de analisarmos esse obstáculo.
IV
O MEDO DO PASSADO
As últimas décadas foram marcadas por um especial cultivo do romance do futuro. Dá a impressão de que decidimos não perceber aquilo que aconteceu no passado, pelo que optamos, com uma espécie de alívio, por afirmar aquilo que acontecerá no futuro – coisa que é (aparentemente) bastante mais fácil. O homem moderno já não apresenta as memórias do bisavô; prefere escrever uma biografia detalhada e autorizada do bisneto. Em vez de estremecermos diante dos espectros dos mortos, trememos de forma abjecta perante a sombra da criança por nascer. Este espírito está presente em toda a parte, incluindo na criação do género de romance futurista. Sir Walter Scott situa-se no dealbar do século XIX como representante do romance do passado; o Sr. H. G. Wells situa-se no dealbar do século XX como representante do romance do futuro. Como sabemos, as histórias antigas começavam assim: «Ao final de uma noite de Inverno, dois cavaleiros terão provavelmente sido avistados...»; já as novas histórias terão de começar assim: «Ao final de uma noite de Inverno, dois aviadores serão avistados...» O movimento não deixa de ter os seus encantos; com efeito, não deixa de ser intrépido – ainda que excêntrico – ver tantas pessoas a travar, uma vez e outra, as batalhas que ainda não se deram; ver pessoas resplandecer com a memória de amanhã de manhã. É corrente ouvir falar de homens que estão à frente do seu tempo; ouvir falar de um tempo que está à frente do seu tempo é que é um tanto bizarro.
Mas, depois de termos reconhecido este inofensivo elemento de poesia e de humana perversidade em todo este processo, não hesito em defender aqui que o culto do futuro não é apenas uma fraqueza, é também uma cobardia do tempo. Constitui uma peculiar perversidade da nossa época que nem a sua belicosidade deixe de ser fundamentalmente assustada; e o nacionalismo não é desprezível por ser insolente, mas por ser tímido. A razão pela qual o armamento moderno não consegue acender a imaginação como o faziam as armas e os brasões dos Cruzados nada tem a ver com a fealdade ou a beleza óptica; na verdade, há navios de guerra que são tão belos como o mar e havia elmos normandos que eram tão feios como os narizes que protegiam. A fealdade que rodeia a nossa guerra científica é uma emanação do perverso pânico que jaz no âmago da mesma. A carga dos Cruzados era uma carga; consistia em carregar na direcção de Deus, que é o feroz consolo dos bravos. A carga dos armamentos modernos não é carga nenhuma. É um tumulto, uma retirada, uma fuga ao diabo, que acabará por lhe apanhar a traseira. É impossível imaginar um cavaleiro medieval a falar de lanças francesas cada vez mais compridas com a palpitação com que se fala hoje de navios alemães cada vez maiores. A circunstância que mais contribuiu para alienar muitos espíritos magnânimos dos empreendimentos imperiais foi o facto de estes serem sempre apresentados como defesas furtivas ou repentinas contra um mundo de fria rapacidade e de medo. O que marcou a Guerra dos Bóeres, por exemplo, não foi tanto a convicção de que estávamos a lutar por uma causa justa, quanto a convicção de que os bóeres e os alemães estavam a lutar por uma causa injusta: a tentativa de nos empurrar (como então se dizia) para o mar. Julgo que foi o Sr. Chamberlain que observou que a guerra fora uma pena no seu chapéu, e foi de facto: uma pena branca.12
Ora bem, este mesmo pânico primário que sinto na nossa corrida ao armamento patriótico, sinto-o também na nossa corrida às visões da sociedade do futuro. O espírito moderno é forçado a olhar para o futuro por uma certa sensação de fadiga, combinada com uma ponta de terror, com a qual olha para o passado. É propelido para o tempo que há-de vir; é continuamente empurrado para o meio da semana que vem. E o isco que assim o move com ansiedade não é a afectação pelo porvir; o porvir não existe, porque é ainda futuro. É antes o medo do passado, um medo que não o é apenas do mal do passado, mas também do bem do passado. O cérebro verga-se perante a insuportável virtude da humanidade. Houve tanta fé intensa que não conseguimos suster; tanto heroísmo vigoroso que não conseguimos imitar; tantos esforços de construção monumental ou de glória militar que nos parecem, a um tempo, sublimes e patéticos. O futuro é um refúgio da feroz competição dos nossos antepassados. A geração que nos bate à porta não é a mais nova, é a mais antiga. É muito agradável fugir, como dizia Henley13, para a Rua do Já-Vou, onde fica a Hospedaria do Nunca. É agradável brincar com crianças, especialmente quando se trata de crianças ainda por nascer. O futuro é uma parede em branco, em que qualquer homem pode escrever o seu nome do tamanho que lhe aprouver; o passado é que já vem preenchido com gatafunhos ilegíveis, como Platão, Isaías, Shakespeare, Miguel Ângelo, Napoleão. Não me é custoso estreitar o futuro à minha dimensão; já o passado tem mesmo de ter a amplitude e a turbulência da humanidade. E a conclusão desta atitude moderna é, no fundo, a seguinte: os homens inventaram novos ideais porque não se atrevem a acometer os ideais antigos. Olham para diante com entusiasmo porque têm receio de olhar para trás.
Ora bem, não há na história revolução que não seja uma restauração. Há muitas razões pelas quais o moderno hábito de fixar os olhos no futuro me enche de dúvidas; e a mais forte de todas é a seguinte: ao longo da história, os homens que realmente tiveram influência no futuro tinham os olhos fixados no passado. Nem preciso falar da Renascença, porque a palavra é, de si, uma demonstração da minha tese. A originalidade de Miguel Ângelo e de Shakespeare começou quando se começaram a desenterrar vasos e manuscritos; a suavidade dos poetas resultou indubitavelmente da suavidade dos antiquários. Ou seja, o grande ressurgimento medieval foi uma recuperação do Império romano; a Reforma pretendeu recuperar a bíblia e os tempos bíblicos; o moderno movimento católico pôs os olhos nos tempos patrísticos. Mas esse movimento moderno – que, do ponto de vista de muitos, foi o mais anárquico de todos – é, neste sentido, o mais conservador. Nunca o passado foi tão venerado como o foi pelos homens da Revolução Francesa, que invocavam as pequenas repúblicas da Antiguidade com a confiança com que se invocam os deuses. Os sans-culottes apostavam (como o nome dá aliás a entender) no regresso à simplicidade. Estes homens acreditavam piamente num passado remoto; há mesmo quem lhe chame passado mítico. Por qualquer razão estranha, o homem tem sempre de plantar as árvores de fruto num cemitério. O homem só encontra vida entre os mortos. O homem é um monstro deformado, com os pés voltados para diante e a cabeça virada para trás; é capaz de criar um futuro gigantesco e luxuriante enquanto está a pensar no passado. Quando tenta pensar no futuro, o espírito reduz-se-lhe a uma ponta de alfinete de imbecilidade; há quem lhe chame nirvana. O amanhã é a górgona: o homem só pode vê-lo espelhado no escudo brilhante do ontem; se o vir directamente, transforma-se numa pedra. Foi este o destino de todos os que realmente viram o destino e o porvir como uma realidade clara e inevitável. Os calvinistas, que têm um credo perfeito de predestinação, transformaram-se em pedras. Os modernos sociólogos transformaram-se (com o seu atroz eugenismo) em pedras. A única diferença é que os puritanos são estátuas solenes, enquanto os eugenistas são estátuas algo divertidas.
Mas há uma característica do passado que desafia e deprime os modernos como nenhuma outra, e os orienta para este futuro incaracterístico. Refiro-me à presença, no passado, de grandes ideais por realizar, e por vezes abandonados. Estes esplêndidos fracassos constituem uma visão melancólica para esta geração inquieta e um tanto mórbida; de maneira que ela guarda um estranho silêncio relativamente a eles – um silêncio que chega por vezes a ser desprovido de escrúpulos. Nunca falam deles nos jornais, e quase nunca os mencionam nos manuais de história. Por exemplo, referem com frequência (nos elogios ao futuro) que estamos a avançar para uns Estados Unidos da Europa, coisa que existia literalmente nos tempos do Império Romano, e essencialmente na Idade Média. Mas evitam cuidadosamente referir que os ódios internacionais (que qualificam de bárbaros) são na verdade muito recentes, e resultam simplesmente da destruição do ideal do Sacro Império Romano. Outro exemplo: não se cansam de dizer que se prepara uma revolução social, um grande levantamento dos pobres contra os ricos; mas nunca mencionam que a França procedeu a essa magnífica tentativa sem a ajuda de ninguém, e que o resto do mundo permitiu que ela fosse esmagada e esquecida. Afirmo vigorosamente que não há coisa mais notória nos textos modernos que a previsão destes ideais no futuro, combinada com a ignorância dos mesmos no passado. E qualquer pessoa pode fazer o teste a estes factos. Leiam-se trinta ou quarenta páginas de panfletos defendendo a paz na Europa e verifique-se quantos elogiam os papas e os imperadores de antanho por terem mantido a paz na Europa. Leia-se um conjunto de ensaios e poemas em louvor da social democracia, e veja-se quantos elogiam os velhos jacobinos que criaram a democracia e morreram por ela. Para o homem moderno, estas ruínas colossais mais não são do que enormes monstruosidades; ele olha para o vale do passado e vê uma paisagem de esplêndidas cidades inacabadas. E, se estão inacabadas, nem sempre é por inimizade ou acidente, é muitas vezes por inconstância, fadiga mental e o desejo de filosofias estranhas. Não deixámos por fazer apenas aquelas coisas que devíamos ter feito, também deixámos por fazer aquelas coisas que queríamos fazer.
Tornou-se vulgar afirmar que o homem moderno é o herdeiro de todas as épocas, que aprendeu com estas sucessivas experiências humanas. Não sei como responder a esta ideia, a não ser pedindo ao leitor que olhe para o homem moderno, como eu próprio olhei agora mesmo para o homem moderno: vendo-me ao espelho. Será realmente verdade que o leitor e eu somos duas torres luminosas, feitas das mais elevadas visões do passado? Teremos realmente realizado os grandes ideais históricos, desde o nosso antepassado que andava nu e tinha coragem para matar um mamute com uma faca de pedra, passando pelo cidadão grego e o santo cristão, até chegar ao nosso avô, ou ao nosso bisavô, que terá participado em combates à espada ou sido morto a tiro em revoluções? Continuaremos a ter força para matar mamutes, sendo agora no entanto tão meigos que preferimos poupá-los? Haverá no cosmos algum mamute que nos tenha obrigado a decidir se o matávamos ou o poupávamos? Quando nos recusamos (de forma veemente) a agitar a bandeira do nosso regimento e a disparar por sobre uma barricada como faziam os nossos antepassados, fazemo-lo por deferência pelos sociólogos – ou pelos militares? Teremos de facto ultrapassado o guerreiro e o santo asceta? Tenho a impressão de que apenas ultrapassámos o guerreiro no sentido em que talvez seja preferível fugirmos dele. E, se passámos adiante do asceta, tenho a impressão de que o fizemos sem uma inclinação de cabeça.
É essencialmente a isto que me refiro quando falo da estreiteza das novas ideias, do efeito limitativo do futuro. O idealismo profético do nosso tempo é estreito porque passou por um persistente processo de eliminação. Temos de pedir coisas novas porque não estamos em condições de pedir coisas antigas. E esta posição assenta essencialmente na ideia de que já retirámos todo o bem que podíamos retirar das ideias do passado. Mas a verdade é que não retirámos delas todo o bem que podíamos, e neste momento talvez nem retiremos bem nenhum. E do que temos agora necessidade é de uma completa liberdade de restauração, bem como de revolução.
Falam-nos hoje muito do valor da audácia com que um qualquer rebelde ataca uma tirania antiga ou uma superstição antiquada. Mas atacar coisas antigas e antiquadas não é grande prova de coragem, como não é prova de coragem atacar uma avó. O homem verdadeiramente corajoso é aquele que desafia as tiranias jovens como a manhã e as superstições frescas como as primeiras flores. O verdadeiro livre-pensador é aquele cujo intelecto está tão liberto do futuro como do passado. Aquele que se preocupa tão pouco com o que virá a ser como com o que foi; aquele que apenas se preocupa com o que deve ser. E, em termos do presente argumento, insisto especialmente nesta independência abstracta. Posto a discutir os problemas do mundo, afirmo que um dos primeiros problemas é o seguinte: a profunda e silenciosa presunção moderna de que as coisas passadas se tornaram impossíveis. Há uma metáfora que agrada muito aos modernos: «Não se pode andar com os ponteiros do relógio para trás.» Ora, a resposta mais simples e mais óbvia a esta afirmação é: «Pode sim.» Sendo um instrumento construído pelos homens, um relógio pode assumir qualquer posição e qualquer hora que os seres humanos desejem conferir-lhe. Assim também, sendo construída pelos seres humanos, a sociedade pode ser reconstruída com base em qualquer plano do passado.
Há outro provérbio – «Quem má cama fizer, nela se há-de deitar» – que também é mentira. Se eu fiz mal a cama, posso voltar a fazê-la, se Deus quiser. Se quiséssemos, podíamos perfeitamente recuperar a Heptarquia14 e as carruagens de cavalos. Talvez levasse algum tempo, e talvez não fosse aconselhável; mas não é impossível – ao passo que é impossível reviver a sexta-feira passada. E esta é, dizia eu, a primeira liberdade que reclamo: a liberdade de restauração. Reclamo o direito de propor como solução o velho sistema patriarcal do clã das Terras Altas, se isso contribuir para a eliminação de uma série de males. E não há dúvida de que eliminava uma série de males, como por exemplo o mal de obedecer a estrangeiros cruéis, a simples burocratas e a polícias. Reclamo o direito de propor a total independência das pequenas cidades gregas e italianas, bem como a soberania de Brixton e Brompton, se tal for a melhor maneira de resolvermos os nossos problemas. Seria uma maneira de resolvermos alguns dos nossos problemas; por exemplo, num pequeno Estado não podemos ter aquelas enormes ilusões acerca dos homens e das respectivas capacidades que são alimentadas pelos grandes jornais nacionais e internacionais. Ninguém seria capaz de convencer uma cidade-estado de que um cavalheiro belga é inglês ou de que um empresário honesto é um desperado, da mesma maneira que ninguém consegue convencer os habitantes de uma aldeia de que o bêbedo da comarca é abstémio ou de que o idiota da comarca é um estadista. Apesar de tudo, não estou realmente a propor a independência fiscal das famílias e dos clãs, nem sequer estou a propor que Clapham declare a sua independência. Estou simplesmente a declarar a minha independência. Limito-me a reclamar a minha opção por todas as ferramentas do universo; e recuso-me a admitir que alguma delas esteja embotada pelo simples facto de ter sido usada.
V
O TEMPLO INACABADO
A tarefa dos idealistas modernos ficou extremamente facilitada pelo facto de lhes terem ensinado que, se uma coisa foi derrotada, ficou demonstrado que era falsa. Do ponto de vista lógico, o que se passa é manifestamente o contrário. As causas perdidas são exactamente aquelas que podiam ter salvado o mundo. É difícil responder a alguém que afirme que o Jovem Pretendente15 podia ter sido a felicidade de Inglaterra; mas se alguém disser que os Jorges foram a felicidade de Inglaterra, qualquer pessoa saberá – espero eu – replicar-lhe. Aquilo que não se pôde realizar é sempre inexpugnável; o único rei de Inglaterra que foi perfeito é aquele que foi sufocado à nascença. Foi precisamente por ter fracassado que o Jacobitismo não pode ser considerado um fracasso. Foi precisamente porque a Comuna se desmoronou enquanto rebelião que não podemos afirmar que entrou em colapso enquanto sistema. Mas tais explosões foram breves e acidentais. Poucas pessoas têm a noção de quantos esforços de grande dimensão – que são os factos que preenchem a história – viram frustrada a sua total realização, chegando até nós sob a forma de gigantescas mutilações. Só tenho espaço para aludir aos dois mais importantes factos da história moderna: a Igreja Católica, e aquele crescimento moderno que tem as suas raízes na Revolução Francesa.
Os quatro cavaleiros que espalharam o sangue e os miolos de São Tomás da Cantuária16 não o fizeram apenas por raiva, mas por uma espécie de obscura admiração: desejavam-lhe o sangue, mas desejavam-lhe ainda mais os miolos. Este golpe permanecerá para sempre ininteligível se não reflectirmos naquilo em que os miolos de São Tomás estavam a pensar imediatamente antes de serem disseminados pelo chão fora. E estavam a pensar na grandiosa noção medieval de que a Igreja é o juiz do mundo. Becket não admitia sequer que um sacerdote fosse julgado pelo Presidente do Supremo Tribunal; e não o admitia por uma simples razão: porque era o Presidente do Supremo Tribunal que estava a ser julgado pelo sacerdote. Também o sistema de justiça estava sub judice. Também os reis estavam no banco dos réus. A ideia consistia em criar um reino invisível, sem exércitos nem prisões, mas com total liberdade para condenar publicamente todos os reinos do mundo. Não podemos afirmar sem hesitação que uma tal Igreja suprema teria curado a sociedade, porque a Igreja nunca foi uma Igreja suprema. A única coisa que podemos dizer é que, pelo menos em Inglaterra, os príncipes venceram os santos. Temos diante de nós aquilo que o mundo queria; e, para alguns de nós, é um fracasso. Mas não podemos dizer que aquilo que a Igreja queria é um fracasso, e isto por uma simples razão: porque a Igreja fracassou. Tracy17 chegou cedo demais. A Igreja ainda não tinha feito essa grande descoberta protestante de que o rei não pode errar. O rei era chicoteado na catedral – um espectáculo que recomendo a quantos lamentam o reduzido número dos que praticam a fé. Mas essa descoberta acabou por ser feita; e Henrique VIII espalhou os ossos de Becket com a mesma facilidade com que Tracy lhe tinha espalhado os miolos.
O que eu quero dizer com isto é evidentemente que o catolicismo nunca foi tentado – embora muitos católicos tenham sido julgados e condenados. Ou seja, o mundo não se cansou do ideal da Igreja, mas da sua realidade. Os mosteiros não foram impugnados devido à castidade dos monges, mas devido à sua falta de castidade. O cristianismo não deixou de ser apreciado por causa da humildade, mas por causa da arrogância dos cristãos. É certo que, se a Igreja fracassou, foi em grande parte devido aos homens da Igreja. Ao mesmo tempo, porém, certos elementos hostis tinham indubitavelmente começado a pôr-lhe fim muito antes de ela poder cumprir a sua missão. Na natureza das coisas, era necessário um esquema comum de vida e pensamento que abarcasse toda a Europa. Mas o sistema medieval começou a desmoronar-se intelectualmente muito antes de dar o mais pequeno sinal de que estava a desmoronar-se moralmente. As grandes heresias dos primeiros tempos, como os albigenses, não tinham a mais pequena desculpa em termos de superioridade moral. E a verdade é que a Reforma começou a desmoronar a Europa antes de a Igreja Católica ter tempo de a constituir. Assim, por exemplo, os prussianos só se converteram ao cristianismo já muito perto da Reforma; as pobres criaturas mal tiveram tempo de se tornar católicas antes de lhes ordenarem que se tornassem protestantes. Este facto explica em grande medida o comportamento subsequente deste povo. Mas referi este caso apenas como primeiro e mais óbvio exemplo de uma verdade geral: que o fracasso dos grandes ideais do passado não ficou a dever-se ao facto de terem sido ultrapassados, mas de não terem sido suficientemente vividos. A humanidade não passou pela Idade Média; pelo contrário, afastou-se da Idade Média em tumultuosa reacção. Não é que o ideal cristão tenha sido experimentado e fosse pouco satisfatório; acontece que era um ideal difícil, que não chegou a ser levado à prática.
O mesmo se passa, evidentemente, no caso da Revolução Francesa. Grande parte da nossa actual perplexidade resulta do facto de a Revolução Francesa ter resultado em parte e em parte fracassado. Em certo sentido, Valmy18 foi a batalha decisiva do Ocidente; noutro sentido, foi Trafalgar.19 Com efeito, destruímos as maiores tiranias territoriais e criámos uma classe de camponeses livres em quase todos os países cristãos à excepção de Inglaterra – e já voltaremos a este assunto. Mas o regime de governo representativo, que é a sua relíquia universal, é um fragmento muito pouco relevante da ideia republicana. A teoria da Revolução Francesa pressupunha dois elementos de governo, elementos que alcançou na época, mas que não conseguiu legar aos seus imitadores de Inglaterra, da Alemanha e da América. O primeiro era a ideia da pobreza com honra, de que um estadista tem de ser uma espécie de estoico; o segundo era a ideia da publicidade radical. Há muitos escritores ingleses – por exemplo Carlyle – que, embora providos de uma muito razoável imaginação, não conseguem compreender como é que homens como Robespierre e Marat eram ardentemente admirados; a resposta mais correcta é que estes homens eram admirados porque eram pobres – porque eram pobres quando podiam ser ricos.
Ninguém se lembrará de sugerir que este ideal vigora na haute politique deste país. A nossa pretensão nacional à incorruptibilidade na política assenta precisamente no contrário: na teoria de que, colocando homens abastados em posições seguras, eles não se sentirão tentados a meter-se em fraudes financeiras. Não me interessa agora saber se a história da aristocracia inglesa – desde a espoliação dos mosteiros até à anexação das minas – permite sustentar esta teoria; do que não há dúvida é de que ela é a nossa teoria: que a riqueza serve de protecção contra a corrupção política. O estadista inglês é subornado para não ser subornado. Nasce com uma colher de prata na boca para evitar que de futuro lhe venham a descobrir as colheres de prata no bolso. E tão profunda é a nossa confiança nesta protecção por via da plutocracia, que cada vez mais confiamos o império nas mãos de famílias que herdaram fortunas, sem terem herdado o sangue e as boas maneiras. Temos famílias de políticos cujo pedigree consiste em serem novos-ricos; são pessoas que têm a falta de educação na cota de armas. No caso de muitos estadistas modernos, afirmar que nasceram com uma colher de prata na boca é simultaneamente adequado e excessivo; o que eles nascem é com uma faca de prata na boca. Mas tudo isto serve apenas para ilustrar a teoria inglesa de que a pobreza é perigosa para os políticos.
O mesmo se pode dizer se compararmos a actual situação com a lenda acerca da publicidade durante a Revolução. De acordo com a tradicional doutrina democrática, quanto mais conhecidos fossem os processos que corriam nos departamentos do Estado, mais fácil seria gerar um movimento de justa indignação quando os comportamentos deixassem a desejar. Também neste caso, não haverá admirador da política inglesa (se é que tal pessoa existe) que possa afirmar com seriedade que este ideal de publicidade foi exaurido, ou foi sequer ensaiado. É óbvio que a vida pública está cada vez mais privada. Com efeito, os franceses prosseguiram a tradição de revelar segredos e fazer escândalos; são por isso mais palpáveis do que nós, não no pecado, mas na confissão do pecado. O primeiro julgamento de Dreyfus podia ter acontecido em Inglaterra; já o segundo julgamento teria sido impossível do ponto de vista legal.20 Mas, se realmente queremos perceber a que distância nos encontramos do projecto republicano original, a melhor maneira de o fazermos é ver a que distância nos encontramos, sequer, das componentes republicanas do antigo regime. Com efeito, não somos apenas menos democráticos que Danton e Condorcet, somos em muitos aspectos menos democráticos que Choiseul e Maria Antonieta.21 Os nobres mais ricos de antes da revolta não passavam de membros remediados da classe média, em comparação com os nossos Rothschilds e Roseberys. E, em termos de publicidade, a monarquia francesa era infinitamente mais democrática que qualquer das monarquias do nosso tempo. Praticamente qualquer pessoa podia entrar no palácio e ver o rei a brincar com os filhos ou a cortar as unhas. O povo era dono do monarca, como é dono dos parques de Londres; quer isto dizer que, não podendo levá-los para casa, podem no entanto instalar-se neles. A velha monarquia francesa estava fundada sobre o excelente princípio de que um gato pode olhar para o rei; hoje em dia, porém, um gato não pode olhar para o rei – a não ser que se trate de um gato muito amansado. Mesmo quando tem a liberdade de criticar, a imprensa limita-se a adular. A diferença de fundo pode resumir-se no seguinte: no quadro da tirania do século XVIII, uma pessoa podia dizer: «O r.. de Br.....rd é um libertino»; no quadro da liberdade do século XX, o que a pessoa pode dizer é: «O rei de Brentford é um marido modelar.»
Mas já gastámos demasiado tempo com este parêntesis, destinado a mostrar que, tal como o grande sonho medieval, também o grande sonho democrático tem sido, num sentido rigoroso e prático, um sonho por realizar. O problema da moderna Inglaterra não reside certamente no facto de termos levado excessivamente à letra, ou de termos alcançado com decepcionante perfeição, o catolicismo de Becket ou a igualdade de Marat. E, se peguei nestes dois casos, foi apenas porque são típicos de milhares de casos parecidos; o mundo está cheio destas ideias por realizar, destes templos por acabar. A história não consiste em ruínas acabadas e desmoronadas; consiste em casas cuja construção ficou a meio, abandonada por um construtor que foi à falência. Este mundo assemelha-se mais a um subúrbio por concluir do que a um cemitério deserto.
VI
OS INIMIGOS DA PROPRIEDADE
Mas é por esta razão específica que é necessário dar esta explicação no limiar da definição dos ideais. É que, devido à falácia histórica que acabo de discutir, haverá uma série de leitores que têm a expectativa de que, propondo um ideal, eu proponha um ideal novo. Ora, eu não pretendo minimamente propor um ideal novo. Não há ideal novo imaginável pela loucura dos novos sofistas que seja tão impressionante ou tão satisfatório como os ideais antigos. No dia em que as máximas dos manuais forem levadas à prática, o mundo sofrerá uma espécie de terramoto. Há uma única coisa nova que se pode fazer debaixo do sol: olhar para o sol. E, se o leitor tentar olhar para o sol num dia limpo de Junho, perceberá porque razão os homens não olham de frente para os seus ideais. A única coisa verdadeiramente impressionante que se pode fazer com um ideal é levá-lo à prática; é olhar de frente para o flamejante facto lógico e as respectivas e assustadoras consequências. Cristo sabia que seria muito mais terrível cumprir a lei que destruí-la; isto aplica-se aos dois acasos que citei, e a todos os outros. Os pagãos sempre tinham adorado a pureza: Atenas, Ártemis, Vesta; mas, quando as virgens mártires começaram provocatoriamente a praticar a pureza, atiraram-nas aos leões e obrigaram-nas a rebolar sobre carvões em brasa. O mundo sempre tinha adorado a ideia da vitória dos pobres, como provam múltiplas lendas – desde a Cinderela até Richard Whittington22 – e poemas – desde o Magnificat até à Marselhesa. E os reis não ficaram furiosos com França por ela ter idealizado este ideal, mas por tê-lo realizado. José de Áustria e Catarina da Rússia estavam perfeitamente de acordo com a ideia do governo do povo; o que os horrorizava era a correspondente realidade. A Revolução Francesa é, pois, o tipo da verdadeira revolução, porque tem um ideal tão antigo como Adão, mas cuja realização é quase tão recente e tão milagrosa como a Nova Jerusalém.
Acontece que, no mundo moderno, nos confrontamos antes de mais com o extraordinário espectáculo das pessoas que se voltam para novos ideais porque não experimentaram os ideais antigos. As pessoas não se cansaram do cristianismo, porque nunca houve suficiente cristianismo para dele se cansarem. As pessoas não se fartaram da justiça política – fartaram-se foi de esperar por ela.
Ora, o que eu pretendo fazer neste livro é pegar apenas num desses ideais antigos; mas vou pegar naquele que é talvez o mais antigo de todos. Refiro-me ao princípio da domesticidade, à família feliz, à sagrada família da história. Para já, basta observar que esta família se assemelha à igreja e à república, e que é hoje atacada principalmente por aqueles que nunca a conheceram, ou por aqueles que não conseguiram realizá-la. São inúmeras as mulheres contemporâneas que se rebelaram contra a domesticidade em teoria, porque nunca conheceram a domesticidade na prática. Há milhares de pobres que são actualmente enviados para asilos sem nunca terem tido casa. De uma maneira geral, pode-se dizer que a classe culta esperneia a pedir que a deixem sair de casa, enquanto a classe operária grita a pedir que a deixem entrar em casa.
Pois bem, se tomarmos esta casa como um teste, podemos colocar, de uma forma genérica, os fundamentos espirituais da ideia. Deus é aquele que é capaz de fazer alguma coisa a partir do nada. E pode-se dizer que o homem é aquele que é capaz de fazer alguma coisa a partir seja do que for. Por outras palavras, enquanto a alegria de Deus é uma criação ilimitada, a alegria do homem é uma criação limitada: é a combinação da criação com os limites. Deste modo, o prazer do homem consiste em ter condições, mas também em ser parcialmente tido por elas; em ser, até certo ponto, controlado pela flauta que toca ou pelo campo que cultiva. O interessante é tirar o máximo das condições dadas; e as condições alargam-se, mas não de forma indefinida. Um homem pode escrever um soneto imortal num sobrescrito velho e tirar um herói de um bocado de pedra. Mas tirar um soneto de um bocado de pedra seria uma tarefa laboriosa e fazer um herói de um sobrescrito é uma tarefa que está quase fora do alcance da prática política. Quando diz respeito a um airoso passatempo da classe culta, este combate fecundo com os limites dá pelo nome de Arte. Mas a generalidade das pessoas não tem tempo nem aptidões para inventar a beleza invisível e abstracta. Para a generalidade das pessoas, a ideia da criação artística só pode ser expressa por uma ideia pouco apreciada nestas discussões – a ideia da propriedade. O homem médio não é capaz de dar ao barro a forma de um homem; mas é capaz de dar à terra a forma de um jardim. E, ainda que a organize em canteiros de gerânios encarnados e batatas azuis em filas alternadas, nem por isso deixa de ser um artista; porque a opção foi dele. O homem médio não é capaz de pintar o pôr-do-sol cujas cores admira; mas é capaz de pintar a própria casa da cor que escolhe. E, ainda que a pinte de verde ervilha com pintas cor-de-rosa, nem por isso deixa de ser um artista; porque a opção foi dele. A propriedade é, muito simplesmente, a arte da democracia. Significa que todos os homens têm qualquer coisa que podem moldar à sua imagem, como eles próprios foram moldados à imagem do céu. Porém, não sendo Deus, mas apenas imagens de Deus, a sua auto-expressão tem de ter limites; limites que são rigorosos e até reduzidos.
Tenho perfeita consciência de que, no nosso tempo, a palavra «propriedade» foi contaminada pela corrupção dos grandes capitalistas. Ouvindo as pessoas a falar, um homem até julga que os Rothchilds e os Rockefellers estão do lado da propriedade. Mas é óbvio que eles são inimigos da propriedade, porque são inimigos dos seus próprios limites. Eles não querem as terras que são deles; querem as terras que são dos outros. Quando afastam os marcos das extremas dos vizinhos, também afastam os deles. Um homem que aprecia um pequeno campo triangular aprecia-o por ser triangular; uma pessoa que lhe destrua esta forma, dando-lhe mais terras, é um ladrão que lhe roubou o triângulo. Um homem que dispunha da verdadeira poesia da posse deseja ver o muro onde o seu jardim confina com o jardim do vizinho; este homem não vê a forma da sua terra senão quando vê também os contornos da terra do vizinho. O facto de o duque de Sutherland ser proprietário de todas as terras do condado é a própria negação da propriedade; tal como o facto de ele ter todas as esposas de um harém seria a negação do casamento.
VII
A FAMÍLIA LIVRE
Como já disse, o meu propósito é pegar apenas num exemplo de referência; e vou pegar na instituição a que se chama a casa de família, que é a concha e o órgão da mesma família. Teremos em consideração as tendências cósmicas e políticas apenas na medida em que elas atinjam este antigo e singular tecto. Bastam muito poucas palavras para aquilo que tenho a dizer acerca da família propriamente dita. Deixo de lado as especulações acerca da sua origem animal e os pormenores relativos à sua reconstrução social; dedicar-me-ei apenas à sua palpável omnipresença. A família é necessária à humanidade; a família é (se o leitor assim o quiser) uma armadilha para a humanidade. Só se pode falar de «amor livre» – como se o amor fosse um episódio equivalente a acender um cigarro ou a assobiar uma cançoneta – ignorando hipocritamente um facto gigantesco. Suponhamos que, sempre que um homem acendia um cigarro, se levantava dos anéis de fumo um gigante altíssimo, que o seguia por toda a parte qual enorme escravo. Suponhamos que, sempre que um homem assobiava uma cançoneta, chamava um anjo à terra e depois tinha de andar com um serafim atrás de si por uma coleira. Estas imagens catastróficas são débeis paralelos das extraordinárias consequências que a Natureza anexou à actividade sexual; e é perfeitamente claro, logo desde o princípio, que um homem não pode praticar o amor livre; pois ou é um homem comprometido, ou é um traidor. O segundo elemento que gera a família é o facto de as suas consequências, embora colossais, serem graduais; o cigarro produz um bebé gigante, a canção apenas produz um pequeno serafim. Daí resulta a necessidade de um sistema prolongado de cooperação; e daí resulta a família em todo o seu sentido educativo.
Pode-se dizer que esta instituição – a casa de família – é a única instituição verdadeiramente anárquica; que o mesmo é dizer que é mais antiga que a lei e que está fora do alcance do Estado. É uma instituição que, pela sua natureza, é revigorada ou corrompida pelas indefiníveis forças do costume e da parentela. Não significa isto que o Estado não tenha autoridade sobre as famílias; a autoridade do Estado é e deve ser invocada em muitos casos anómalos. Mas o Estado não tem nada que ver com a maioria dos casos normais de alegrias e tristezas familiares; nem é tanto que a lei não deva intervir – é que não pode intervir. Assim como há domínios que estão excessivamente longe da lei, também há outros que estão excessivamente perto dela; como se diz que mais depressa um homem vê o Pólo Norte que as próprias costas. As pequenas coisas e as mais próximas escapam ao controlo pelo menos tanto como as grandes e as mais distantes; e os verdadeiros prazeres e dores de uma família são um forte exemplo disto. Se um bebé chora a pedir a lua, o polícia não pode dar-lhe a lua – mas também não pode calar o bebé. Criaturas tão íntimas uma à outra como marido e mulher, ou mãe e filhos, têm capacidades de se tornar mutuamente felizes ou infelizes que não estão sujeitas a qualquer coacção pública. Um casamento que pudesse ser dissolvido todas as manhãs não deixaria descansar um homem; e qual é o interesse de dar muito poder a um homem, se ele apenas quer um pouco de paz? O filho tem de estar dependente da mãe, mesmo que esta esteja cheia de defeitos; e a mãe pode ser totalmente dedicada a um filho que seja o maior dos malandros. Nestas relações, as vinganças legais são vãs. Mesmo nos casos anómalos em que a lei poderá intervir, deparamos permanentemente com esta dificuldade – como bem sabem os magistrados. Estes têm de evitar que as crianças morram de fome quando engavetam o ganha-pão da família. E muitas vezes tem de partir o coração à mulher depois de o marido lhe ter partido a cabeça. O Estado não dispõe de ferramentas suficientemente delicadas para desenraizar os hábitos enraizados e os afectos enredados das famílias; sejam felizes ou não, os dois sexos estão de tal maneira colados, que não podemos meter entre eles a lâmina da faca legal. O homem e a mulher são uma só carne – sim, mesmo quando não são um só espírito. O homem é um quadrúpede. E sobre esta antiga e anárquica intimidade pouco ou nenhum efeito têm os governos; ela será feliz ou infeliz pela sua complementaridade sexual e os seus hábitos de sociabilidade, seja na república da Suíça ou no despótico Reino de Sião. E nem a instauração de uma república no Reino de Sião contribuiria grandemente para a libertação dos gémeos siameses.
O problema não está no casamento, mas no sexo; e continuaria portanto a ser sentido num quadro de livre concubinagem. No entanto, a esmagadora massa dos homens não tem pugnado pela liberdade nesta matéria, mas pela criação de laços mais ou menos duradouros. As tribos e as civilizações discutem as ocasiões em que se pode quebrar este laço, mas todas consideram que se trata efectivamente da quebra de um laço, e não de um mero distanciamento. No quadro deste livro, não me interessa discutir a visão mística do matrimónio em que eu próprio acredito – nomeadamente, a grande tradição europeia que fez do casamento um sacramento. Baste dizer aqui que tanto pagãos como cristãos têm considerado que o matrimónio é um laço; uma coisa que, normalmente, não deve ser quebrada. Em suma, esta convicção humana na existência de um laço sexual assenta num princípio que a mente humana estudou muito mal; e que talvez tenha o seu melhor paralelo no princípio do segundo fôlego de uma caminhada.
O princípio é o seguinte: que em todas as coisas que valem a pena, incluindo os prazeres, há um momento de dor e de tédio a que é necessário resistir, para que o prazer possa reviver e durar. A alegria da batalha vem depois do primeiro medo da morte; a alegria de ler Virgílio vem depois do enfado de o ler; a radiância do banhista ocorre depois do primeiro choque gelado do banho de mar; e o êxito no casamento ocorre depois do fracasso da lua-de-mel. Os votos, as leis e os contratos dos seres humanos são outras tantas maneiras de sobreviver a este ponto de viragem, a este instante de potencial rendição.
Em todas as coisas que vale a pena fazer neste mundo, há um momento em que ninguém as faria a não ser por razões de necessidade ou de honra. É nessa altura que a Instituição toma conta do homem, e o ajuda a assentar pé em terra firme e a seguir em frente. Se este sólido facto da natureza humana basta para justificar a sublime dedicação ao matrimónio cristão já é outro assunto; mas a verdade é que basta amplamente para justificar o sentimento humano de que o casamento é uma coisa fixada, cuja dissolução é um erro ou, pelo menos, uma ignomínia. O elemento essencial não é tanto a duração, como a segurança. Duas pessoas têm de estar ligadas para fazerem justiça a si mesmas: durante vinte minutos, quando se trata de uma dança, ou durante vinte anos, quando se trata de um casamento. Em ambos os casos, se um homem se entedia nos primeiros cinco minutos, tem de prosseguir e de se obrigar a ser feliz. A coacção é uma espécie de estímulo; e a anarquia (ou aquilo a que alguns chamam liberdade) é essencialmente opressiva, porque é essencialmente desencorajante. Se nós flutuássemos no ar como bolhas, com a liberdade de vaguearmos para onde quiséssemos a qualquer momento, o resultado prático seria ninguém ter a coragem de dar início a uma conversa. Seria pouco elegante começar uma frase num murmúrio cordial, para depois ter de gritar a segunda metade da frase porque o ouvinte já se tinha afastado, a flutuar no éter livre e informe. Os cônjuges têm de ser manter unidos para fazerem justiça um ao outro. Se os americanos podem divorciar-se por «incompatibilidade de carácter», não percebo porque não estão todos divorciados. Tenho conhecido muitos casamentos felizes, mas não conheço nenhum casamento compatível. O objectivo do casamento é precisamente combater e sobreviver ao instante em que a incompatibilidade se torna inquestionável. Porque um homem e uma mulher, enquanto tais, são incompatíveis.
VIII
O DESVARIO DA DOMESTICIDADE
No decurso desta história, teremos de tratar daquilo a que se chama o problema da pobreza, em especial da pobreza desumanizada do industrialismo moderno. Mas nesta primeira fase do ideal, a dificuldade não reside no problema da pobreza, mas no problema da riqueza. É a psicologia própria do lazer e do luxo que falsifica a vida. A experiência que eu tenho dos movimentos modernos chamados «progressistas» levou-me a concluir que, de uma maneira geral, eles assentam em experiências próprias de ricos. É o que se passa com a falácia do amor livre, à qual já me referi: a ideia de que a sexualidade é uma sequência de episódios. Esta ideia pressupõe longos períodos de férias em que um homem acaba por se cansar da mulher, e um carro em que ele vai à procura de outras; e pressupõe também ter dinheiro para os sustentos. Um motorista de autocarro não tem tempo para amar a própria mulher, quanto mais para amar a mulher dos outros. E o êxito com que as separações nupciais são retratadas nas modernas «peças de problema» deve-se ao facto de haver apenas uma coisa que os dramas não conseguem retratar – um fatigante dia de trabalho. Posso dar muitos outros exemplos deste pressuposto plutocrático que está por trás das modas progressistas. Por exemplo, é um pressuposto plutocrático que está por trás da frase: «Porque há-de uma mulher ser economicamente dependente de um homem?» A resposta é que, entre as gentes pobres e pragmáticas, a mulher não está dependente do homem; excepto no sentido em que o homem está dependente dela. Um caçador rasga inevitavelmente as roupas, e tem de haver quem as cosa. Um pescador apanha o peixe, e tem de haver quem o cozinhe. É perfeitamente claro que a moderna ideia de que a mulher não passa de um «parasita bonito e dependente», «um brinquedo», etc., resulta da sombria contemplação de uma família de banqueiros ricos, em que o banqueiro ia à cidade fingir que fazia qualquer coisa, enquanto a mulher do banqueiro ia passear e não fingia fazer coisa alguma. Um homem pobre e a mulher dele constituem uma equipa de trabalho. Se um dos sócios de uma editora entrevista os autores enquanto o outro entrevista os funcionários, isto quer dizer que um deles é economicamente dependente do outro? Hodder era um parasita bonito dependente de Stoughton? Marshall era um simples brinquedo de Snelgrove?23
Mas a pior das noções contemporâneas geradas pela riqueza é a de que a domesticidade é uma coisa insípida e monótona. Dizem estas pessoas que, dentro de uma casa, reina o decoro e a rotina da morte, e só fora dela há aventura e variedade. Isto é indubitavelmente uma opinião de ricos. Os ricos sabem que as suas casas são movidas pelas amplas e discretas roldanas da fortuna, governadas por um regimento de criados, por via de um ritual eficaz e silencioso. Por outro lado, têm a romântica vagabundagem à sua espera nas ruas; e, como têm muito dinheiro, podem dar-se ao luxo de ser vadios. As suas mais audazes aventuras acabarão sempre à mesa dum restaurante, ao passo que as mais modestas aventuras dos labregos poderão acabar diante de um juiz. Se partirem uma janela, têm com que a pagar; se partirem um homem, podem dar-lhe uma pensão. Podem mesmo (como o milionário do conto) comprar um hotel para conseguirem que lhes sirvam um gin. E, sendo eles – os homens de vida luxuosa – que ditam quase todas as causas «progressistas», já quase nos esquecemos do que é uma casa de família para a esmagadora maioria das pessoas.
Porque a verdade é que, para os moderadamente pobres, a sua casa é o único sítio onde há liberdade. Melhor, é o único sítio onde reina a anarquia. É o único local do mundo onde um homem pode alterar subitamente as coisas, fazer experiências, ter caprichos. Para onde quer que vá, tem de aceitar as regras da loja, da estalagem, do clube ou do museu onde entre; em sua casa, porém, pode jantar sentado no chão, se lhe apetecer – é uma coisa que eu faço com frequência, e que produz uma curiosa sensação de infantilidade poética, como se estivesse a fazer um piquenique. Mas seria uma grande maçada tentar fazê-lo num restaurante. Em sua casa, um homem pode andar de roupão e chinelos; mas tenho quase a certeza de que não lho permitiriam no Savoy, embora nunca tenha tentado. Quando a pessoa vai a um restaurante, tem de beber dos vinhos que constam da lista de vinhos; pode bebê-los a todos, se quiser, mas tem de beber pelo menos uma parte. Em casa, porém, sobretudo se a pessoa tiver jardim, pode tentar fazer chá de malva-rosa ou vinho de convólvulo, se lhe apetecer. Para um homem simples, um homem que trabalha, a sua casa não é o único local sossegado num mundo cheio de aventuras; é o único local criativo num mundo cheio de regras e tarefas fixas. A sua casa é o único local onde ele pode aplicar a carpete no tecto e as telhas no chão, se lhe apetecer. Quando um homem passa as noites a cambalear de bar em bar ou de music-hall em music-hall, dizemos que leva uma vida irregular. Mas é falso: esse homem leva uma vida extremamente regular, subordinada às regras monótonas – e frequentemente opressivas – que vigoram nesses locais. Acontece por vezes que nem sequer o autorizam a sentar-se nos bares; e a maior parte das vezes não o eixam cantar nos music-halls. Um hotel pode ser definido como um local onde a pessoa é obrigada a vestir-se; e um teatro como um sítio onde um homem está proibido de fumar. Só em casa é que um homem pode fazer piqueniques.
Vou então tomar, como disse, esta pequena omnipotência humana, esta posse de uma célula ou cela de liberdade, como modelo da presente investigação. Não é certo que sejamos capazes de dar a todos os ingleses uma casa que seja sua e onde se sintam livres, mas devemos pelo menos desejar fazê-lo; e eles desejam que tal aconteça. Cada inglês deseja, por exemplo, uma casa independente; não quer uma parte de casa. Pode ser obrigado, dada a actual corrida comercial, a partilhar a casa com outros, assim como pode ser obrigado, numa corrida a três pernas, a partilhar a perna do parceiro; mas não é essa a imagem de elegância e liberdade com que ele sonha. Este homem também não quer um apartamento. Pode comer e dormir e louvar a Deus num apartamento; como pode comer, dormir e louvar a Deus num comboio em movimento. Mas um comboio em movimento não é uma casa, porque é uma casa sobre rodas. E um apartamento não é uma casa, porque é uma casa dentro de um caixote. Tanto a ideia do contacto com a terra e das fundações na terra, como a ideia da separação e da independência, fazem parte deste instrutivo quadro humano.
Vou então tomar esta instituição como teste. Assim como qualquer homem normal deseja uma mulher, e filhos nascidos de uma mulher, assim também qualquer homem normal deseja uma casa que seja sua para nela os meter. Não deseja simplesmente um tecto sob o qual se abrigar e uma cadeira na qual se sentar; quer um reino objectivo e visível; um fogão onde possa cozinhar a comida de que gosta, uma porta que possa abrir aos amigos que escolhe. Este é o normal apetite dos homens. Não digo que não haja excepções; pode haver santos que estejam acima deste desejo e filantropos que estejam abaixo dele. Agora que é duque, é bem possível que Opalstein se tenha habituado a ter mais do que isto; e que, quando era presidiário, estivesse habituado a ter menos. Mas a normalidade desta atitude é enorme. Dar uma casa vulgar a quase toda a gente agradaria a quase toda a gente; é isso que eu afirmo sem hesitar. Ora bem, apontará o leitor, na moderna Inglaterra é muito difícil dar uma casa a quase toda a gente. É verdade; mas eu limitei-me a estabelecer um desideratum; e peço ao leitor que o deixe estar quieto enquanto passa comigo à consideração do que realmente acontece nas guerras sociais do nosso tempo.
IX
A HISTÓRIA DE PINO E TINO
Suponhamos que há em Hoxton uns pardieiros repugnantes, repletos de doenças e crivados de crimes e promiscuidade. E suponhamos que há dois jovens nobres e corajosos, de intenções puras e (se o leitor assim preferir) origem nobre, a que chamaremos Pino e Tino. Digamos que Pino é um jovem activo, um jovem que acha que as pessoas deviam sair daquele antro a qualquer custo, e que começa a pedir dinheiro e a fazer subscrições para esse efeito; mas chega à conclusão (a despeito dos seus amplos interesses financeiros) de que, para ser feita no local, a coisa tem de ser económica. Por isso, constrói uma fileira de prédios de habitação que parecem colmeias, e não tarda a instalar os pobres nas suas pequenas células de tijolo, que são indubitavelmente melhores do que as instalações antigas, na medida em que os abrigam do frio e do calor, são ventiladas e dispõem de água corrente. Mas Tino é um jovem de natureza mais delicada, e sente que falta um quê às caixinhas de tijolo; coloca portanto inúmeras objecções às mesmas, e vai ao ponto de atacar o famoso Relatório Pino por via do Relatório Minoritário Tino. E, ao fim de cerca de um ano, comunica acaloradamente a Pino que as pessoas eram muito mais felizes como estavam. Dado que as pessoas têm, numa e noutra habitação, exactamente o mesmo ar de afabilidade aturdida, é muito difícil perceber qual deles tem razão. Mas pode-se pelo menos dizer que nunca ninguém apreciou viver num ambiente de fome e fedores variados; o que as pessoas apreciavam eram alguns prazeres que acompanham a fome e os fedores. Essa não é, contudo, a opinião de Tino, o jovem sensível. E assim, muito antes da discussão final (Pino contra Tino e Outro), já Tino conseguiu convencer-se de que os bairros de lata e os maus cheiros são, no fundo, coisas bastante simpáticas; que foi o costume de dormirem catorze pessoas no mesmo quarto que fez a grandeza de Inglaterra; e que o cheiro dos esgotos a céu aberto é absolutamente essencial à produção de uma raça de vikings.
E entretanto, não terá havido degenerescência em Pino? Pois parece que sim. De tal maneira que o seu olhar iludido vê agora, naqueles edifícios horrendos que mandou erigir, e que originalmente não passavam de abrigos despretensiosos destinados a albergar seres humanos, construções cada vez mais encantadoras. Coisas que ele nunca se teria lembrado de defender – a não ser como soluções de recurso –, coisas como as cozinhas comuns e os infames fogões de amianto, começam a parecer-lhe sagradas, pelo simples facto de reflectirem a ira de Tino. E ele defende, com o apoio de uns livrinhos de sociologia, que na realidade o homem se sente mais feliz numa colmeia que numa casa. À dificuldade pragmática que consiste em impedir o acesso de desconhecidos ao próprio quarto de dormir chama ele Fraternidade; e à necessidade de subir vinte e três lanços de escadas de pedra chama – julgo eu – Esforço. O resultado líquido desta aventura filantrópica é o seguinte: um deles acabou a defender os indefensáveis bairros de lata e os ainda mais indefensáveis proprietários das casas existentes nos mesmos, enquanto o outro acabou a tratar como coisas maravilhosas as barracas e as canalizações que inicialmente eram apenas soluções provisórias e de recurso. Tino transformou-se num velho conservador corrupto e apoplético que frequenta o Carlton Club24; e que, quando alguém lhe fala de pobreza, responde com um rugido rouco, expostulando uma frase que soa como um «Só lhes faz bem!» Mas Pino também não se sente feliz; transformou-se num vegetariano esguio de barba grisalha e pontiaguda e sorriso peculiar, que anda por aí a dizer que vamos acabar todos a dormir num único quarto universal, e vive numa Garden City25, qual cidadão esquecido por Deus.
Tal é a lamentável história de Tino e Pino – que introduzo apenas como tipo de um interminável e exasperante mal-entendido que ocorre constantemente na moderna Inglaterra. Quando são tiradas de bairros de lata, as pessoas são instaladas em prédios; e a princípio qualquer alma humana saudável detesta uns e outros. O primeiro desejo de qualquer pessoa é afastar-se o mais que pode dos pardieiros, mesmo que para isso tenha de ir viver num prédio moderno. O segundo desejo é, naturalmente, afastar-se do prédio moderno, mesmo que para isso tenha de regressar ao pardieiro. Mas eu não sou tiniano nem piniano; e parece-me que os erros cometidos por estas duas famosas e fascinantes personagens resultam de um simples facto: o facto de nem Tino nem Pino terem reflectido no tipo de casa em que um homem gostaria de viver. Em suma, de não terem partido do ideal; de não serem políticos pragmáticos.
Podemos agora regressar ao propósito do nosso estranho parêntesis acerca dos louvores do futuro e dos fracassos do passado. Sendo a casa própria o óbvio ideal de qualquer homem, podemos agora perguntar (tomando esta necessidade como típica de todas as necessidades deste género) porque razão ele não a tem; e se isso é, em algum sentido filosófico, culpa dele. Ora, a mim parece-me que, num certo sentido filosófico, isso é de facto culpa dele, e parece-me que num sentido ainda mais filosófico é culpa da filosofia dele. E é isto que tenho agora de tentar explicar.
Julgo que era Burke – um excelente retórico que raramente se confrontava com a realidade – que dizia que a casa de um inglês é o seu castelo. Afirmação bastante curiosa, porque o inglês é praticamente o único europeu cuja casa não é o seu castelo. Em quase todos os países existe o pressuposto de que os camponeses podem ser proprietários; de que um pobre pode ser senhorio, embora seja apenas senhor das suas terras. É certo que a circunstância de o senhorio e o arrendatário serem a mesma pessoa tem certas vantagens triviais, como o facto de o arrendatário não pagar renda e de o senhorio ter de trabalhar. Mas o que me interessa agora não defender o direito à pequena propriedade, mas apenas salientar que ela existe em quase todos os países, excepto em Inglaterra. Também é verdade, contudo, que esta existência de pequenos proprietários é hoje atacada por todo o lado; que nunca existiu entre nós e que pode muito bem ser destruída entre os nossos vizinhos. Temos portanto de perguntar o que foi que deu cabo das naturais criações humanas nos assuntos humanos em geral, e neste ideal doméstico em particular.
O homem andou sempre perdido. O homem é um vagabundo desde que saiu do Éden. Mas sempre soube, ou julgou saber, de que andava à procura. Todos os homens têm uma casa algures no cosmos; têm uma casa à sua espera mergulhada até à cintura nos lentos rios de Norfolk, ou a apanhar banhos de sol nas planícies do Sussex. O homem sempre andou à procura daquela casa que é o tema deste livro. Mas, na sombria e desolada tempestade de cepticismo a que tem estado sujeito desde há muito, começou pela primeira vez a sentir-se gelar, não apenas em termos de esperanças, mas em termos de desejos. Pela primeira vez na história, começou realmente a duvidar da finalidade das suas deambulações neste mundo. O homem sempre andou perdido; mas agora não sabe onde mora.
Sob a pressão de certas filosofias das classes altas (ou, por outras palavras, sob a pressão de Tino e Pino), o homem médio está realmente confuso relativamente ao objectivo dos seus esforços; e assim, os seus esforços são cada vez mais fracos. Aquela ideia simples que consiste em ter uma casa sua é ridicularizada e tida por burguesa, sentimental ou desprezivelmente cristã. Recomendam-lhe, sob diversas formas verbais, que saia para as ruas – é o chamado individualismo; ou que vá viver para um asilo – é o chamado colectivismo. Voltaremos a este processo daqui a nada. Mas pode-se dizer desde já que nunca faltará a Tino e Pino, ou seja, à classe governante em geral, uma frase moderna a justificar a sua predominância desde sempre. Se não poderem fazê-lo com motivações reaccionárias, os grandes senhores hão-de recusar ao camponês de Inglaterra os seus três acres de terra e uma vaca com motivos progressistas. Negar-lhe-ão os três acres de terra alegando que a terra é do Estado; e proibi-lo-ão de ter a vaca por razões humanitárias.
O que nos conduz à derradeira análise desta singular influência que obstou às exigências doutrinais do povo de Inglaterra. Julgo que há ainda quem negue que a Inglaterra é governada por uma oligarquia. A mim, basta-me saber que um homem podia ter adormecido há trinta anos a ler o jornal do dia e ter acordado a semana passada a ler o jornal da semana passada, que havia de lhe parecer que as notícias eram sobre as mesmas pessoas. Num dos jornais, figurariam um Lord Robert Cecil, um Sr. Gladstone, um Sr. Lyttleton, um Churchill, um Chamberlain, um Trevelyan, um Acland; no outro jornal, encontraria um Lord Robert Cecil, um Sr. Gladstone, um Sr. Lyttleton, um Churchill, um Chamberlain, um Trevelyan, um Acland.26 Se isto não é ser governado pelas mesmas famílias, não sei o que será. Talvez ser governado por um conjunto de extraordinárias coincidências democráticas.
X
A OPRESSÃO DO OPTIMISMO
Mas o que nos interessa agora não é a natureza e a existência da aristocracia, mas a origem do seu peculiar poder, a razão pela qual é a última das verdadeiras oligarquias da Europa, e a razão pela qual não parece haver grandes perspectivas de lhe vermos o fim. A explicação é simples, embora permaneça estranhamente ignorada. É frequente os amigos da aristocracia elogiarem-na pelo facto de preservar tradições antigas e preciosas. E é frequente os inimigos da aristocracia criticarem-na pelo facto de se ater a costumes antiquados e cruéis. Tanto os inimigos como os amigos da aristocracia estão enganados. De uma maneira geral, a aristocracia não preserva boas nem más tradições; a única coisa que a aristocracia preserva é a caça. Não passa pela cabeça de ninguém ir à procura de bons costumes entre a aristocracia; é mais fácil encontrar bons curtumes! O deus dos aristocratas não é a tradição, é a moda, que é o contrário da tradição. Se o leitor andasse à procura de um toucado norueguês de antigamente, recorria ao jet-set escandinavo? Não; os aristocratas não têm costumes; na melhor das hipóteses, têm hábitos, como os animais. Quem tem costumes é o povo.
O verdadeiro poder dos aristocratas ingleses tem residido precisamente no oposto da tradição. A chave do poder das classes altas é muito simples e é a seguinte: terem-se mantido sempre cuidadosamente do lado daquilo a que se chama Progresso. Eles sempre se mantiveram actualizados, e para uma aristocracia isto é bastante fácil; porque os membros da aristocracia são a suprema instância daquele estado de espírito de que falámos atrás. Para eles, a novidade é um luxo que está muito próximo da necessidade; acima de tudo, sentem-se de tal maneira entediados com o passado e com o presente, que têm uma ansiedade terrível pelo futuro.
Mas, independentemente de tudo o resto, uma coisa de que os grandes senhores nunca se esqueceram foi de que lhes competia estar do lado das novidades, daquilo que fosse a última moda entre os professores universitários e os financeiros. Assim, estiveram do lado da Reforma contra a Igreja, do lado dos liberais contra os Stuarts, do lado da ciência de Bacon contra a velha filosofia, do lado do sistema de manufactura contra os operacionais, e estão hoje do lado do crescente poder do Estado contra os individualistas. Mas o efeito imediato deste facto sobre a questão que estamos a estudar é algo peculiar.
Sempre que foi metido em buracos e em situações difíceis, o inglês comum ouviu dizer que, por uma razão ou por outra, era tudo para melhor. Acordava um dia de manhã e descobria que as coisas públicas que ele usava há oitocentos anos simultaneamente como estalagens e como santuários tinham sido súbita e selvaticamente abolidas, com o fito de aumentar a fortuna de uns seis ou sete homens. Era de supor que se aborrecesse com isso; e houve muitos locais em que de facto se aborreceu, tendo tido de ser controlado pela soldadesca. Mas não foi apenas o exército que o silenciou. Também os sábios o silenciaram; pois os seis ou sete homens que se apoderaram das estalagens dos pobres explicaram-lhe que não o faziam para seu próprio benefício, mas em prol da religião do futuro, da grande aurora do protestantismo e da verdade. E assim, quando um nobre do século XVII era apanhado a destruir a vedação de um camponês e a roubar-lhe o campo que a vedação contornava, o referido nobre apontava muito excitado para o rosto de Carlos I ou de Jaime II (que talvez estivessem, nesse momento, com uma expressão bastante carregada), distraindo assim as atenções do camponês. Os grandes senhores puritanos criaram a Commonwealth27, mas destruíram a terra comum. Salvaram os seus compatriotas mais pobres da desgraça de terem de pagar o Ship Money28, mas obrigaram-nos a pagar o dinheiro do arado e o dinheiro da pá, sem que os referidos pobres tivessem capacidade de reagir a tais exigências. Este hábito da aristocracia foi imortalizado num belo verso inglês:
Acusais o homem e a mulher
Que roubam o ganso que come nos baldios,
Mas não prendeis o malandro
Que rouba os baldios ao dono do ganso.
Também aqui, tal como acontecia no caso dos mosteiros, deparamos com o estranho problema da submissão. Se eles roubavam aos baldios aos donos dos gansos, era sem dúvida porque estes donos eram uns grandes gansos. A verdade é que os aristocratas os persuadiam de que tudo aquilo era necessário para expulsar a raposa Stuart. Da mesma maneira, os grandes nobres que no século XIX se tornaram proprietários de minas e gestores de caminhos de ferro garantiam a toda a gente com enorme seriedade que o não faziam por gosto, mas devido a uma Lei Económica recentemente descoberta. E da mesma maneira os prósperos políticos da nossa geração aprovam leis que retiram os filhos às mães pobres; e proíbem calmamente os seus arrendatários de beber cerveja nos pubs. Mas (ao contrário do que o leitor possa supor) contra tal insolência não se erguem universais vozes de protesto, classificando-a de escandaloso feudalismo. Porque a aristocracia é sempre progressiva; a aristocracia é uma forma de impor o ritmo. E as festas dos aristocratas prolongam-se cada vez mais pela noite dentro; porque eles estão a tentar viver o amanhã.
XI
O HOMEM COMUM FOI PRIVADO DA SUA HABITAÇÃO
Assim, o Futuro a que nos referimos no princípio sempre foi (pelo menos em Inglaterra) um aliado da tirania. O inglês vulgar foi despojado das suas posses, por muito parcas que fossem, e sempre em nome do progresso. Os destruidores das abadias roubaram-lhe o pão e deram-lhe uma pedra, garantindo-lhe que se tratava de uma pedra preciosa, do seixo branco do eleito de Deus. Tiraram-lhe o mastro das festas de Maio e a vida rural original e prometeram-lhe uma Era de Ouro de Paz e Prosperidade, inaugurada no Palácio de Cristal. E agora, estão a tirar-lhe o pouco que lhe resta de dignidade como proprietário e chefe de família, prometendo-lhe utopias com nomes (aliás bastante adequados) como «Previsões» e «Notícias de Lado Nenhum». E voltamos ao aspecto principal já mencionado. O passado é comunitário; o futuro tem de ser individualista. No passado residem todos os males da democracia, a variedade, a violência e a dúvida; mas o futuro é puro despotismo, porque o futuro é puro capricho. Eu sei que ontem era um tolo humano, mas amanhã posso perfeitamente ser o Super-Homem.
Mas o moderno inglês é um homem que tem de ser constantemente excluído, por uma razão ou por outra, da casa onde queria começar a sua vida de casado. Este homem (chamemos-lhe Jones) sempre desejou coisas normais: casou-se por amor, escolheu ou construiu uma casinha que lhe serve como uma luva, e está preparado para ser bisavô e um deus no seu bairro. E no momento preciso em que faz a mudança, há qualquer coisa que corre mal. De repente, surge uma tirania, pessoal ou política, que o impede de entrar em casa; e o homem tem de tomar as refeições no jardim. Um filósofo que vai passar (e que, por mera coincidência, é o homem que o expulsou de sua casa) detém-se e, debruçando-se elegantemente sobre a vedação, explica-lhe que ele começou a viver a arrojada vida que tem por base a generosidade da natureza e que será a vida do futuro sublime. Mas, para este homem, a vida no jardim de casa é mais arrojada que generosa, pelo que na Primavera seguinte ele se muda para uma habitação mais modesta. O filósofo (que o expulsou de casa), que vai por acaso bater à porta dessa habitação com a provável intenção de subir a renda, detém-se a explicar-lhe que ele se encontra agora na vida real dos empreendimentos mercantis; a luta económica entre ele e a senhoria serão a única coisa da qual poderá provir, no sublime futuro, a riqueza das nações. O homem sai derrotado da luta económica e vai viver para o asilo. O filósofo que o expulsou (e que andava por acaso, naquele preciso momento, a inspecionar o asilo) garante-lhe que ele se encontra finalmente na república de ouro que é o objectivo da humanidade; encontra-se numa comunidade igualitária, científica e socialista, que é propriedade do Estado e é gerida por funcionários públicos – é a comunidade do futuro sublime.
Apesar disto, há sinais de que o irracional Jones continua a sonhar com a velha ideia de ter uma casa normal. Pedira tão pouco, e tinham-lhe dado tanto. Ofereceram-lhe subornos de mundos e sistemas; ofereceram-lhe o Éden e a Utopia, e a Nova Jerusalém, e ele só queria uma casa. Mas a casa recusaram-lha.
Este apólogo não é exagero nenhum relativamente aos factos da história inglesa. Porque os ricos expulsaram literalmente os pobres para o asilo da esquina da rua, comunicando-lhes que se tratava da rua do progresso. Obrigaram-nos literalmente a ir trabalhar para fábricas e a sujeitar-se aos salários de escravos do mundo moderno, garantindo-lhes sempre que esse era o único caminho para a fortuna e a civilização. E, assim como expulsaram os rústicos dos conventos onde eles comiam e bebiam, declarando-lhes que as ruas do céu estavam recobertas a ouro, assim também os impediram de comer e de beber nas aldeias, dizendo-lhes que as ruas de Londres estavam recobertas a ouro. E, assim como os rústicos entraram no sombrio pórtico do puritanismo, assim também entraram no sombrio pórtico do industrialismo; e acerca de um e de outro lhes disseram que se tratava da via do futuro. Até agora, eles limitaram-se a andar de prisão em prisão – melhor, a caminhar para prisões cada vez mais escuras, porque o calvinismo sempre abria uma janelinha para o céu. E agora pedem-lhes, no mesmo tom culto e autoritário, que acedam a outro pórtico às escuras, no qual terão de entregar a mãos invisíveis os filhos, os seus parcos haveres e os hábitos dos seus antepassados.
Mais adiante, veremos se esta última abertura poderá ser efectivamente mais convidativa do que as antigas aberturas do puritanismo e do industrialismo. Mas do que não pode haver grande dúvida é de que, se se impuser a Inglaterra alguma forma de colectivismo, ele será imposto – como tudo o que o foi até agora – por uma classe política instruída a um povo em parte apático e em parte hipnotizado. A aristocracia mostrar-se-á tão disposta a «administrar» o colectivismo como se mostrou disposta a administrar o puritanismo e o manchesterismo29; de certa maneira, este poder centralizado torna-se-lhe necessariamente atractivo. Não será tão difícil como alguns socialistas inocentes parecem supor induzir o Ilustre Tomnoddy a tomar conta do fornecimento de leite depois de ter tomado conta do fornecimento de selos – desde que lhe aumentem o ordenado. O Sr. Bernard Shaw defende que os ricos se saem melhor nos conselhos locais do que os pobres porque estão isentos de «timidez financeira»; ora bem, a classe dominante inglesa está perfeitamente isenta de «timidez financeira». O duque de Sussex não teria dificuldade nenhuma em ser o administrador do Sussex. Como muito bem disse Sir William Harcourt, que é um aristocrata típico, «Nós [isto é, a aristocracia] agora somos todos socialistas.»
Mas não é com esta nota que quero terminar. A minha principal objecção é que, independentemente de serem necessários, tanto o industrialismo como o colectivismo foram aceites como necessidades, e não como ideais ou desejos. A Escola de Manchester não agrada a ninguém; mas é aceite por ser a única maneira de produzir riqueza. O marxismo não agrada a ninguém; mas é aceite por ser a única maneira de evitar a pobreza. Ninguém tem realmente a intenção de evitar que um homem livre seja proprietário de uma terra ou que uma velhota cultive a sua horta; como ninguém tinha realmente a intenção de promover o impiedoso combate das máquinas. O objectivo deste capítulo é suficientemente alcançado com a indicação de que – tal como o abstencionismo – também esta proposta é um pis aller, um mal menor. Não me proponho demonstrar aqui que o socialismo é um veneno; basta-me defender que não se trata de um vinho, mas de um remédio.
A ideia da propriedade privada que, sendo embora universal, não deixa de ser privada; a ideia das famílias que, sendo embora livres, não deixam de ser famílias; a ideia da domesticidade que, sendo embora democrática, não deixa de ser doméstica, a ideia de cada homem ter a sua casa – tudo isto continua a ser a verdadeira visão e o íman da humanidade. O mundo poderá aceitar uma coisa mais oficial e mais geral, menos humana e menos íntima. Mas nesse caso o mundo será como uma mulher que foi abandonada pelo noivo, e que acaba por se casar com um homem a quem não ama porque não pode casar-se com aquele que a faria feliz. O socialismo poderá ser a libertação do mundo; mas não é aquilo que o mundo deseja.
II PARTE
O IMPERIALISMO OU O ERRO ACERCA DO HOMEM
I
O FASCÍNIO DO JINGOÍSMO
Andei frenético à procura de um título para esta secção; e confesso que a palavra «imperialismo» é uma versão desajeitada daquilo que eu realmente queria dizer. Mas não encontrei mais nenhuma palavra que se aproximasse tanto; «militarismo» seria ainda menos correcto, e «o super-homem» torna absurda qualquer discussão em que participe. É possível que, pesando bem todas as coisas, fosse preferível utilizar «cesarismo»; mas eu queria uma palavra conhecida; e «imperialismo» acaba por abarcar (como o leitor perceberá) a maior parte dos homens e das teorias que pretendo discutir.
A pequena confusão é contudo potenciada pelo facto de eu também não ser um adepto do imperialismo no sentido mais popular do termo – como modo ou teoria do sentimento patriótico deste país. Mas o imperialismo popular de Inglaterra tem muito pouco a ver com o género de imperialismo cesarista que pretendo delinear. Discordo do idealismo colonial de Rhodes30 e de Kipling31; mas não me parece, como parece a alguns opositores a estes dois homens, que ele seja uma insolente criação da crueldade e da rapacidade dos ingleses. Em minha opinião, o imperialismo não é uma ficção criada pela crueldade inglesa, mas pela suavidade inglesa – melhor ainda, pela amabilidade inglesa.
As razões que levam as pessoas a acreditar na Austrália são, na sua maioria, tão sentimentais como a maioria das razões sentimentais que levam as pessoas a acreditar no céu. Para muitos, a Nova Gales do Sul é literalmente aquele local onde os perversos deixam de incomodar toda a gente e os fatigados podem repousar; ou seja, é um paraíso para os tios que se tornaram desonestos e os sobrinhos que nasceram cansados. A Columbia Britânica é, em sentido estrito, um país de contos de fadas, um mundo onde os filhos mais novos têm à sua espera uma sorte mágica e irracional. Este estranho optimismo relativamente aos confins da terra é uma fraqueza dos ingleses; mas, para mostrarmos que não se trata de fealdade nem de rudeza, bastar-nos-á dizer que não houve pessoa que o tivesse sentido com tanta intensidade como esse gigante do sentimentalismo inglês que foi o grande Charles Dickens. O final de David Copperfield não é irreal apenas por ser um final optimista; é-o também por ser um final imperialista. Com efeito, a decorosa felicidade britânica pensada para David Copperfield e Agnes seria perturbada pela perpétua presença da inapelável tragédia de Emily, bem como da ainda mais inapelável farsa de Micawber. Por essa razão, tanto Emily como Micawber são despachados para uma vaga colónia, onde sofrem mudanças sem outra causa concebível à excepção do clima; e assim, a mulher trágica torna-se alegre e o homem cómico torna-se responsável em consequência de uma viagem marítima e de terem avistado um canguru pela primeira vez.
A minha única objecção ao imperialismo no sentido político ligeiro é, pois, que se trata de uma ilusão de conforto; a circunstância de um império que está a desfazer-se dever sentir-se especialmente orgulhoso dos seus extremos é, a meu ver, tão pouco sublime como o facto de um velho dandy que perdeu o cérebro ainda se sentir orgulhoso das pernas que tem. O imperialismo consola os homens pela evidente fealdade e apatia de Londres com lendas de belos jovens e de uma tenacidade heróica em continentes e ilhas longínquos. Um homem pode sentar-se no meio da esqualidez dum bairro miserável de Londres e achar que a vida é inocente e gloriosa no meio do mato. Mas um homem também podia sentar-se no meio da esqualidez de um bairro miserável de Londres e achar que a vida era inocente e gloriosa num bairro elegante de Londres como Brixton ou Surbiton. Brixton e Surbiton também são «recentes»; também estão em expansão; também estão «mais perto do futuro», no sentido em que engoliram a natureza quilómetro após quilómetro. A única objecção é a objecção de facto: os jovens de Brixton não são jovens gigantes; os amantes de Surbiton não são todos poetas pagãos, que entoam os seus poemas com a doce energia da Primavera. Mas as pessoas das colónias também não são jovens gigantes nem poetas pagãos; são quase todos naturais de Londres que perderam o contacto com a música da realidade pelo facto de terem abandonado a cidade onde nasceram. O Sr. Rudyard Kipling, que é um homem verdadeiramente genial, embora de uma genialidade decadente, iluminou-os com o brilho de um fascínio teórico, que começa agora a desvanecer-se. O Sr. Kipling é, num sentido muito preciso e um tanto surpreendente, a excepção que demonstra a regra. Porque tem imaginação – uma imaginação de estilo oriental e cruel –, mas não a tem por ter crescido num país recente, mas precisamente por ter crescido no mais antigo país do mundo. Kipling tem as suas raízes no passado, um passado asiático; se tivesse nascido em Melbourne, podia perfeitamente nunca ter escrito «Kabul River».
Digo portanto com toda a franqueza (não vá dar a impressão de que estou a ser evasivo) que as cómicas pretensões patrióticas do imperialismo me parecem, a um tempo, fracas e perigosas. O imperialismo é a tentativa de um país europeu criar uma espécie de pretensa Europa que ele possa dominar, e que tome o lugar da verdadeira Europa, que ele apenas pode partilhar. O imperialismo é o gosto de viver com os inferiores. O sonho de restaurar o Império Romano por si e para si é um sonho que, de uma forma ou de outra, perturbou todas as nações cristãs, e todas essas formas eram armadilhas. Os espanhóis são um povo consistente e conservador, pelo que encarnaram essa tentativa de império em lentas e prolongadas dinastias. Os franceses são um povo violento, pelo que conquistaram por duas vezes tal império pela força das armas. Os ingleses são, acima de tudo, um povo poético e optimista, pelo que o seu império é uma coisa vaga mas simpática, uma coisa distante mas apreciada. Mas este sonho dos ingleses, de serem poderosos em locais longínquos, embora seja uma fraqueza nativa, não deixa de ser uma fraqueza; muito mais do que o ouro o era para Espanha ou a glória para Napoleão. Se alguma vez entrarmos em colisão com os nossos verdadeiros irmãos e rivais, é bom que deixemos de lado estas fantasias; pois é tão pouco realista voltarmos os exércitos australianos contra os alemães como voltarmos a escultura da Tasmânia contra a francesa. Fica assim explicado – não vá alguém acusar-me de não revelar a minha opinião por ela ser desagradável às massas – por que razão o imperialismo, tal como é geralmente entendido, me desagrada. Em minha opinião, não se trata apenas de um mal ocasionalmente infligido a outros povos, mas de uma fragilidade continuada, de uma chaga permanente no meu povo. Mas também é verdade que tratei deste imperialismo que é uma simpática ilusão em parte para mostrar que ele é bem diferente daquela coisa mais profunda, mais sinistra mas mais generalizada, a que fui obrigado a chamar imperialismo por razões de conveniência deste capítulo. Para chegarmos à raiz deste imperialismo perverso e muito pouco inglês, temos de voltar atrás e ao princípio, dando início a uma discussão mais geral das necessidades básicas das relações humanas.
II
A SABEDORIA E O TEMPO
É comummente reconhecido – espera-se – que as coisas comuns nunca são vulgares. O nascimento é tapado com cortinas precisamente por ser um extraordinário e monstruoso prodígio. O pensamento da morte e do primeiro amor, embora aconteçam a toda a gente, conseguem fazer-nos parar a respiração. Mas, embora tudo isto seja patente, há outras coisas que o não são tanto. Com efeito, é verdade que estas coisas universais são estranhas; mas é também verdade que são coisas subtis. Em última análise, acabamos por descobrir que as coisas mais normais são altamente complicadas. Há homens de ciência que ultrapassam a dificuldade lidando apenas com a parte mais fácil da mesma; assim, chamam primeiro amor ao instinto sexual e medo da morte ao instinto de autopreservação. Mas isto é o mesmo que ultrapassar a dificuldade de descrever o verde pavão chamando-lhe azul. Há azul no verde pavão. E o facto de haver uma forte componente física no romance e no Memento mori torna um e outro, se possível, ainda mais intrigantes do que seriam se fossem totalmente intelectuais. Nenhum homem é capaz de especificar com exactidão até que ponto a sua sexualidade é matizada por um amor limpo à beleza, ou por aquela impaciência infantil pela aventura irrevogável que leva alguns a fugir num barco para alto mar. Nenhum homem é capaz de dizer até que ponto o seu terror animal pelo fim se combina com as tradições místicas relativas à moral e à religião. É precisamente porque estas coisas são animais, mas não totalmente animais, que começa a dança das dificuldades. Os materialistas analisam a parte mais fácil, negam a parte mais difícil, e vão para casa almoçar.
É um enorme erro supor que, pelo facto de ser vulgar, uma coisa não é refinada; ou seja, subtil e difícil de definir. Quando eu era novo, havia uma cançoneta de salão bastante ordinária que falava do lusco-fusco e de uma mulhe;, mas a combinação da paixão humana com o crepúsculo não deixa de ser uma coisa extremamente delicada, e mesmo imperscrutável. Outro exemplo óbvio: as piadas acerca da sogra raramente são delicadas, mas o problema da sogra é um problema extremamente delicado. A sogra é subtil porque se assemelha ao crepúsculo; a sogra é uma combinação mística de duas coisas inconsistentes: a mãe e a família legal. As caricaturas desvirtuam-na; mas as caricaturas resultam de um verdadeiro enigma humano. A banda desenhada resolve mal a dificuldade; mas a verdade é que era preciso um George Meredith32 para a resolver a contento. A maneira mais adequada de colocar o problema talvez seja a seguinte: a questão não está em a sogra ter de ser desagradável; está em ela ter de ser muito simpática.
Mas talvez seja preferível ilustrar a questão com um hábito rotineiro que toda a gente considera vulgar ou trivial. Pensemos por exemplo no hábito de conversar sobre o tempo, a que Stevenson chama «o próprio nadir e a chacota de qualquer bom conversador». Ora bem, há muitas e profundas razões para se falar sobre o tempo, razões que, para além de profundas, são também delicadas, e que se encontram dispostas em sucessivas camadas de sagacidade estratificada. Em primeiro lugar, trata-se de uma atitude de culto primevo: é preciso invocar o céu; e começar todas as coisas com o tempo é uma maneira pagã de começar todas as coisas com uma oração. Dois amigos que se encontram na rua falam sobre o tempo; mas o mesmo fazem Milton e Shelley. O que significa que esta conversa é uma expressão da elementar ideia de polidez que dá pelo nome de igualdade. Porque a polidez mais não é do que a cidadania. E a palavra polidez faz lembrar a palavra polícia, o que não deixa de ser fascinante. Bem vistas as coisas, o cidadão devia ser mais polido que o cavalheiro; mas o mais cortês e elegante dos três talvez devesse ser o polícia. Ora, as boas maneiras têm obviamente de começar com a simples partilha de alguma coisa. Dois homens devem partilhar um guarda-chuva; e, se não têm guarda-chuva para partilhar, devem pelo menos partilhar a chuva, com as consequentes potencialidades de vivacidade e filosofia que a mesma contém. «Pois Ele faz brilhar o sol...» E este é o segundo elemento do tempo: o reconhecimento da igualdade humana, no sentido em que todos andamos de chapéu sob o estrelado guarda-chuva azul escuro do universo. E daqui resulta a terceira componente salutar deste costume; a saber, o facto de ter início no corpo e na nossa inevitável fraternidade corpórea. A verdadeira amizade começa sempre com o fogo, a comida e a bebida, e o reconhecimento da chuva ou da geada. Aqueles que não partem da extremidade corpórea das coisas são uns pretensiosos que estão em grave risco de aderir à Igreja da Cientologia. Cada alma humana tem, em certo sentido, de assumir pessoalmente a gigantesca humildade da encarnação; todos os homens têm de descer à carne para irem ao encontro da humanidade.
Em suma, na mera observação «Está um dia lindo» concentra-se toda a ideia da camaradagem humana. Ora, a pura camaradagem é mais uma daquelas coisas amplas que não deixam de ser perturbadoras. Todos participamos em relações de camaradagem; e contudo, quando falamos sobre elas, quase sempre dizemos disparates, principalmente porque julgamos que se trata de uma coisa mais simples do que realmente é. É simples de viver; mas não é absolutamente nada simples de analisar. A camaradagem é, na melhor das hipóteses, apenas metade da vida humana; a outra metade é Amor, que é uma coisa tão diferente que parece feita para outro universo. E não me refiro apenas ao amor sexual; qualquer paixão concentrada, seja de que tipo for – seja o amor maternal, ou mesmo as amizades mais intensas –, é por natureza alheia à pura camaradagem. Ambos os lados são essenciais à vida; e ambos são conhecidos, em diferentes graus, por pessoas de todas as idades e de ambos os sexos. Mas, falando muito genericamente, pode-se dizer que as mulheres representam a dignidade do amor e os homens a dignidade da camaradagem; quero com isto dizer que, se não fossem os machos da tribo a preservá-la, tal instituição dificilmente existiria. Os afectos característicos das mulheres são tão superiores em autoridade e intensidade, que a pura camaradagem desapareceria rapidamente se não fosse ciosamente resguardada em clubes, colégios, banquetes e regimentos. Quase todos ouvimos já a dona da casa pedir ao marido que não se deixasse ficar tempo demais com os homens a fumar charutos na sala de jantar a seguir à refeição; é a terrível voz do Amor, procurando destruir a Camaradagem.
A verdadeira camaradagem contém os três elementos a que fiz referência ao falar da comum conversa sobre o tempo. Primeiro, usufrui de uma espécie de ampla filosofia que é como que o céu comum, enfatizando que nos encontramos todos sujeitos às mesmas condições cósmicas. Estamos todos no mesmo barco, nesta «rocha alada» de que falava o Sr. Herbert Trench33. Em segundo lugar, reconhece que se trata de uma ligação essencial; é que a camaradagem mais não é do que a simples humanidade vista naquele singular aspecto que faz com que todos os homens sejam realmente iguais. Os escritores antigos tinham toda a razão ao falar da igualdade entre os homens; mas também tinham muita razão em não referir as mulheres. As mulheres são sempre autoritárias; estão sempre acima ou abaixo. É por isso que o casamento é uma espécie de vaivém poético. Há só três coisas no mundo que as mulheres não compreendem: a Liberdade, a Igualdade e a Fraternidade. Já para os homens (que são uma classe mal compreendida no mundo moderno) estas coisas são o próprio ar que respiram; e a mais erudita das mulheres não conseguirá compreendê-los enquanto não aceitar esta espécie de camaradagem descontraída. Finalmente, contém a terceira qualidade da conversa sobre o tempo, que é a insistência no corpo e nas suas indispensáveis satisfações. Uma pessoa não começou sequer a compreender o que é a camaradagem enquanto não aceita uma certa avidez espalhafatosa na comida, na bebida e no consumo do tabaco, um tumultuoso materialismo que para muitas mulheres é simplesmente porcino. Podemos chamar-lhe orgia ou sacramento; mas trata-se de algo essencial. Trata-se, no fundo, de uma resistência à superioridade do indivíduo. Pois, neste contexto, até o uivar e o pavonear-se são humildes. No fulcro da sua turbulência há uma espécie de estranha modéstia, o desejo de fundir a alma independente numa massa de masculinidade despretensiosa. Trata-se de uma clamorosa confissão das fraquezas da carne. Homem algum pode ser superior às coisas que são comuns aos homens. Esta espécie de igualdade tem de ser física, e grosseira, e cómica. Para além de estarmos todos no mesmo barco, estamos todos enjoados.
Actualmente, a palavra camaradagem corre o risco de se tornar tão fátua como a palavra «afinidade». Há clubes socialistas cujos membros, sejam homens ou mulheres, se tratam por «camaradas». Não tenho emoções sérias, hostis ou outras, relativamente a este hábito; trata-se, na pior das hipóteses, de um convencionalismo, na melhor das hipóteses de um namoro superficial. Apenas me interessa salientar aqui um princípio racional. Quando uma pessoa decide misturar todas as flores num molho – lírios, dálias, túlipas e crisântemos – e dar a todas elas o nome de malmequeres, acaba por tirar sentido à bela palavra malmequer. Quando uma pessoa decide chamar camaradagem a todas as relações humanas, incluindo debaixo dessa designação o respeito da juventude por uma profetisa venerável, o interesse de um homem por uma bela mulher que o intriga, o prazer de um velho filósofo por uma jovem inocente e descarada, o termo do mais violento conflito e o começo do mais gigantesco amor – quando se chama camaradagem a tudo isto, não se ganha nada, e perde-se uma palavra. Os malmequeres são óbvios, universais e abertos; mas são malmequeres, e são diferentes das outras flores. A camaradagem é óbvia, universal e aberta; mas é camaradagem, e é diferente dos outros afectos, tem características que destruiriam outro tipo de afectos. Qualquer pessoa que tenha experimentado a camaradagem num clube ou num regimento sabe que se trata de uma coisa impessoal. Há uma frase que é usada nos clubes de debate, e que se aplica com rigor às emoções masculinas; chamam-lhe «dirigir-se ao assunto». As mulheres dirigem-se umas às outras; os homens dirigem-se ao assunto de que estão a tratar. Conheço muitos homens honestos que, sentados com um grupo dos seus melhores amigos, se esqueceram de quem tinham à sua volta para se dedicarem a explicar um qualquer sistema. E isto não é típico dos intelectuais; os homens são todos teóricos, quer estejam a falar sobre Deus ou sobre golfe. Os homens são todos impessoais, que o mesmo é dizer que são republicanos. Após uma conversa interessante, ninguém se lembra de quem foi que disse as coisas mais interessantes. Todos os homens falam para uma multidão imaginária, para uma nuvem mística – é a isso que se chama o clube.
É óbvio que esta qualidade fria e despreocupada que é essencial aos afectos colectivos dos machos tem perigos e desvantagens. É por causa dela que os homens cospem; por causa dela que usam uma linguagem grosseira; e estas coisas têm mesmo de existir enquanto a relação for digna, porque a camaradagem tem de ser, até certo ponto, feia. Quando se faz menção da beleza nas amizades masculinas, as narinas detêm-se perante o cheiro de coisas abomináveis. A amizade tem de ser fisicamente suja, para poder ser moralmente limpa. Tem de ser desenvolvida em mangas de camisa. O caos dos hábitos que acompanha os machos quando ficam totalmente entregues a si próprios só tem uma solução digna: a rigorosa disciplina do mosteiro. Basta ver a vida infeliz que levam os jovens idealistas que vão morar sozinhos – perdendo peças de roupa na lavandaria e subsistindo a refeições enlatadas – para compreender toda a sabedoria de São Bernardo e São Bento quando decidiram que, para poderem viver sem as mulheres, os homens não podiam viver sem regras. É mais ou menos o mesmo género de precisão artificial que se obtém no exército; e os exércitos também têm de ser, em certo sentido, monásticos – com a excepção de que aí se vive o celibato sem se viver a castidade. Mas estas coisas não se aplicam ao comum dos homens, que são casados. No caso destes, o selvático senso comum do outro sexo impõe uma muito razoável contenção à sua anarquia instintiva. Há um único género de homens muito tímidos que não têm medo das mulheres.
III
A VISÃO COMUM
Ora bem, este amor masculino pela camaradagem aberta e cordial é a vida que alimenta as democracias e as outras tentativas de governar por via do debate; sem ele, a república seria uma fórmula morta. Ainda assim, é frequente o espírito da democracia diferir muito da respectiva letra, e uma taberna é muitas vezes um teste mais adequado que um parlamento. No seu sentido humano, a democracia não é a arbitragem da maioria; nem sequer é a arbitragem de toda a gente. Pode-se até dizer com mais propriedade que se trata da arbitragem de qualquer pessoa. Significa isto que a democracia assenta naquele costume próprio dos clubes que consiste em presumir que os seus membros têm inevitavelmente certas coisas em comum, mesmo que não se conheçam. Mas só as coisas que se pode presumir que qualquer pessoa defende gozam da total autoridade da democracia. Sugiro ao leitor que faça uma experiência: olhe pela janela e repare no primeiro homem que vai a passar. Os liberais varreram Inglaterra com uma maioria devastadora; mas o leitor não aposta um feijão que o tal homem é um liberal. A bíblia é lida nas escolas e respeitada nos tribunais; mas o leitor não aposta uma palha que o tal homem acredita na bíblia. Mas pode apostar, digamos, o salário de um mês que ele acha bem que se ande vestido. Pode apostar que ele considera que a coragem física é uma coisa boa, e que os pais têm autoridade sobre os filhos. Claro, o tal homem pode ser o um em mil que não tem estas opiniões; mas, se vamos a isso, também pode ser a Mulher Barbuda vestida de homem. Mas tais prodígios são uma coisa muito diferente do mero cálculo de números; as pessoas que não têm estas opiniões não são uma minoria, são uma monstruosidade. Mas o único teste que nos permite identificar os dogmas universais que têm autoridade democrática é o teste de qualquer pessoa. Aquilo que está presente em qualquer pessoa que entra numa taberna – isso é que é verdadeiramente lei. E o primeiro homem que o leitor vir da janela é o rei de Inglaterra.
A decadência das tabernas, que é uma componente da decadência geral da democracia, contribuiu inegavelmente para o enfraquecimento deste espírito masculino da igualdade. Lembro-me de que, quando declarei a uma sala cheia de socialistas que não havia, em toda a poesia escrita, expressão mais nobre que Public House (Pub), eles se riram à gargalhada. Pensavam que era uma piada. Não percebo porquê, tendo em consideração que os socialistas querem tornar públicas as casas de toda a gente. Mas, se alguém quiser conhecer o verdadeiro e necessário (pelo menos para os homens) igualitarismo turbulento, basta assistir a uma daquelas magnas discussões de taberna cujo relato nos chegou em obras como o Johnson de Boswell34. E vale a pena mencionar especialmente este nome porque o mundo moderno, na sua morbidez, lhe fez uma estranha injustiça. Diz-se que a aparência de Johnson era «cruel e despótica»; cruel seria ocasionalmente, mas nunca despótica. Johnson não era de maneira nenhuma um déspota; era um demagogo, que gritava contra multidões estridentes. O próprio facto de ele altercar com outras pessoas é uma prova de que as outras pessoas eram autorizadas a altercar com ele. A sua brutalidade assentava na ideia da rixa igualitária, como a que acontece no futebol. É absolutamente verdade que ele berrava e dava murros na mesa porque era um homem modesto; porque receava honestamente ser ultrapassado ou mesmo ignorado. Addison tinha um comportamento delicadíssimo e era o rei de todas as festas; era bem educado com toda a gente – mas era superior a toda a gente. E foi por isso que passou à história acompanhado pelo imortal insulto de Pope: «Tal como Catão, apresenta as duas leizitas no Senado / E senta-se a ouvir atentamente os próprios aplausos.» Johnson, longe de ser o rei de todas as festas, era uma espécie de membro irlandês do próprio parlamento. Addison era cortês, superior e odiado; Johnson era insolente, igual e portanto amado por todos quantos o conheciam, e foi-nos transmitido num livro maravilhoso que é um verdadeiro milagre de amor.
Esta doutrina da igualdade é essencial a qualquer conversa; há tantas coisas que podem ser reconhecidas por uma pessoa que saiba o que é conversar. A partir do momento em que se senta a conversar à mesa de uma taberna, o homem mais famoso do mundo não deseja senão ser obscuro, a fim de que os seus brilhantes comentários luzam como estrelas sobre o pano de fundo dessa obscuridade. Para qualquer pessoa que mereça o nome de homem, não há coisa mais fria e menos agradável do que ser o rei de todas as festas. Mas pode-se dizer que nos jogos e desportos masculinos – à excepção do grande jogo do debate – há indubitavelmente imitação e eclipse. Há de facto imitação, mas esta é apenas uma igualdade especialmente inflamada. Os jogos são competitivos porque é a única maneira de serem empolgantes. Mas se alguém duvida de que os homens têm de repor constantemente o ideal de igualdade, basta responder que foram eles que inventaram o handicap.35 Se os homens exultassem na mera superioridade, quereriam ver até onde ia a mesma superioridade; gostariam de ver um corredor veloz chegar muito antes dos outros todos. Mas aquilo que os homens apreciam não é o triunfo dos superiores, é a luta dos iguais; é por esse motivo que introduzem uma igualdade artificial nos simples desportos de competição. É triste pensar como são poucos os organizadores dos handicaps dos desportos que têm consciência de serem republicanos abstractos e rigorosos.
Não, a verdadeira objecção à igualdade e à autonomia nada tem a ver com estes aspectos livres e festivos da humanidade; todos os homens são democratas quando se sentem felizes. O opositor filosófico à democracia pode resumir substancialmente a sua posição afirmando que ela «não funciona». Antes de ir mais longe, registo de passagem um protesto contra a presunção de que o facto de algo funcionar é o verdadeiro teste à humanidade. No céu não se funciona nem se trabalha, brinca-se. Os homens são mais essencialmente homens quando são livres; e, se eu chegar à conclusão de que os homens são uns presumidos quando trabalham, tornando-se democratas quando estão de férias, tomarei a liberdade de preferir as férias. Mas é esta questão do trabalho que realmente põe em causa a questão da igualdade; é portanto sobre ela que temos de reflectir de seguida. A melhor maneira de enunciar a verdade é talvez a seguinte: a democracia tem um único inimigo de peso, a civilização. Os milagres utilitários que a ciência produziu são antidemocráticos, não tanto na sua perversão, ou mesmo no seu resultado prático, mas na sua forma e no seu propósito de base. Os luditas36 do século XIX tinham razão; não a teriam em pensar que as máquinas fariam diminuir o número de operários, mas tinham-na sem dúvida em pensar que as máquinas fariam diminuir o número de patrões. É verdade que, quando há mais rodas, há menos volantes; e, quando há menos volantes, não são precisas tantas mãos. A maquinaria da ciência tem de ser individualista e isolada. Uma multidão pode berrar em torno de um palácio, mas não consegue gritar ao telefone. Quando surge o especialista, a democracia fica imediatamente reduzida a metade.
IV
A NECESSIDADE INSANA
A concepção corrente entre a escória da cultura darwinista é que os homens foram conseguindo, lenta e penosamente, ultrapassar o estado de desigualdade, para chegarem a um estado de relativa igualdade. Pois eu receio que a verdade seja exactamente o oposto. Os homens começam, normal e naturalmente, pela ideia de igualdade, que só abandonam tarde e com relutância, e sempre por qualquer razão material de pormenor. E nunca acharam que uma classe de homens era naturalmente superior a outra; sempre foram levados a presumir que assim era por via de certas limitações práticas de espaço e de tempo.
Por exemplo, há um elemento que tem de tender sempre para a oligarquia – ou melhor, para o despotismo. Refiro-me à pressa. Se tem um incêndio em casa, um homem tem de telefonar para os bombeiros; não pode ser uma comissão a fazer o telefonema. Se um acampamento é atacado de surpresa durante a noite, alguém tem de dar a ordem de disparar; não há tempo para ir a votos. Trata-se de uma simples limitação física de tempo e espaço, que nada tem a ver com a limitação mental dos homens comandados. Ainda que os habitantes da casa fossem todos homens de destino elevado, seria preferível que não falassem todos ao telefone ao mesmo tempo; melhor, seria preferível que o menos graduado de todos eles pudesse falar sem ser interrompido. Ainda que um exército fosse exclusivamente constituído por Aníbais e Napoleões, em caso de ataque de surpresa, seria preferível que não dessem todos ordens ao mesmo tempo; melhor, seria preferível que fosse o mais estúpido de todos eles a dar as ordens. Percebemos assim que a simples subordinação militar, longe de assentar na desigualdade, assenta na igualdade entre os homens. A disciplina nada tem a ver com a noção carlyleana de que, quando ninguém tem razão, há sempre alguém que tem razão, e que é necessário descobrir e coroar essa pessoa; pelo contrário, a disciplina pressupõe que, em determinadas circunstâncias assustadoramente rápidas, só podemos confiar numa pessoa na medida em que ela não é todas as outras. Ao contrário do que Carlyle pensava, o espírito militar não consiste em obedecer ao mais forte e mais sábio; pelo contrário, o espírito militar consiste, na melhor das hipóteses, em obedecer ao mais fraco e mais estúpido, e em lhe obedecer pelo simples facto de ser um homem, e não um milhar de homens. A submissão a um homem fraco chama-se disciplina. A submissão a um homem forte mais não é do que servilismo.
Ora bem, é fácil demonstrar que aquilo a que chamamos aristocracia na Europa não é, nem na sua origem nem no seu espírito, aristocracia nenhuma. Não se trata de um sistema de gradações e distinções espirituais como é, por exemplo, o sistema de castas na Índia, ou mesmo a velha distinção grega entre escravos e homens livres. Trata-se apenas dos vestígios de uma organização militar, constituída em parte para sustentar o Império Romano quando este começou a afundar-se, e em parte para contrariar e vingar a terrível chacina que foi o islão. A palavra Duque significa apenas Coronel, assim como a palavra Imperador significa apenas Comandante Chefe. A história fica bem manifesta no título dos condes do Sacro Império Romano, que mais não eram do que os oficiais do exército europeu que se opuseram ao Perigo Amarelo seu contemporâneo. Ora, num exército, não passa pela cabeça de ninguém supor que uma diferença de patente constitui uma diferença de realidade moral. Nunca ninguém se lembra de dizer acerca de um regimento: «O vosso major é muito bem humorado e enérgico; o que significa que o vosso coronel é ainda mais bem humorado e mais enérgico que o vosso major.» Assim como nunca ninguém se lembra de dizer, relatando uma conversa na messe dos oficiais: «O tenente Jones teve umas respostas muito inteligentes, mas obviamente inferiores às do capitão Smith.» A essência do exército é a ideia da desigualdade oficial, fundada na igualdade não oficial. O coronel não é obedecido por ser o melhor, mas por ser o coronel. E devia ser esse o espírito do sistema de duques e condes quando este emergiu do espírito e das necessidades militares de Roma. Com o declínio destas necessidades, o sistema deixou gradualmente de fazer sentido enquanto organização militar, e foi minado por uma plutocracia impura. Ainda agora, não se trata de uma aristocracia espiritual – não é uma coisa assim tão má. Trata-se simplesmente de um exército sem inimigo – que vive à custa do povo.
Assim sendo, o homem tem um lado de especialista e um lado de camaradagem; e o caso do militarismo não é o único caso em que se verifica esta submissão aos especialistas. O latoeiro e o alfaiate, bem como o soldado e o marinheiro, têm de ter uma certa rigidez de velocidade de acção; com efeito, se o latoeiro não estiver organizado, não poderá exercer o seu ofício em grande escala. O latoeiro e o alfaiate são frequentemente representantes das duas raças nómadas da Europa: os ciganos e os judeus; mas os judeus são os únicos que têm influência, porque são os que únicos que aceitam submeter-se a uma certa disciplina. O homem tem dois lados, dizíamos, o lado do especialista, no qual tem de se subordinar, e o lado social, no qual tem de vigorar a igualdade. Não deixa de ser verdade que são precisos dez alfaiates para fazer um homem; mas convém não esquecer que são precisos os mesmos dez poetas premiados e os mesmos dez astrónomos reais para fazer um homem. O Homem é feito de dez milhões de mercadores; mas a humanidade é feita de mercadores quando não estão a discutir preços. Ora, o peculiar perigo do nosso tempo – a que chamarei, para facilitar a conversa, imperialismo ou cesarismo – é o total eclipse da camaradagem e da igualdade face ao especialismo e à dominação.
Só há dois tipos de estruturas sociais possíveis: os governos pessoais e os governos impessoais. Se os meus amigos anarquistas se recusam a aceitar regras, terão de aceitar quem os reja. A preferência pelo governo de base pessoal, com o correspondente tacto e flexibilidade, chama-se monarquismo; a preferência pelo governo impessoal, com os seus dogmas e as suas definições, chama-se republicanismo. Recusar reis e credos em geral chama-se parvoíce; pelo menos eu não conheço outra palavra mais filosófica para designar tal posição. A pessoa pode deixar-se conduzir pela esperteza e a presença de espírito de um governante, ou pela igualdade e a justiça comprovada de uma lei; mas tem de ser conduzida por um ou por outra, porque a alternativa não é uma nação, mas uma grande confusão. Ora, na sua componente da igualdade e do debate, os homens adoram a alternativa das leis, que desenvolvem e complicam enormemente até ao excesso. Um homem depara com muito mais regulamentos e definições no seu clube, que é regido por leis, do que em sua casa, que é regida por um governante. As assembleias deliberativas – como por exemplo a Câmara dos Comuns – levam esta pantomima ao ponto da loucura metódica. O sistema está permeado, de alto a baixo, por uma rigidez absurda, que faz com que se assemelhe ao Tribunal Real de Lewis Carroll. Seria de esperar que o Speaker37 falasse – de maneira que ele está quase sempre calado. Seria de esperar que um homem tirasse o chapéu quando entra e o pusesse quando se vai embora – de maneira que ele tira o chapéu quando sai e o põe na cabeça quando entra. É proibido tratar os parlamentares pelo nome, de maneira que quando um homem se quer referir ao próprio pai tem de lhe chamar «o meu digno amigo, o representante de West Birmingham». Trata-se talvez de fantasias decadentes; mas são fantasias que respondem a um apetite masculino. Os homens acham que as regras, ainda que sejam irracionais, são universais; acham que as leis introduzem a igualdade, mesmo que não sejam equitativas. Há uma certa justiça absurda em tudo isto – a mesma que há em atirar uma moeda ao ar.
Uma vez mais, é verdadeiramente lamentável que, quando atacam casos como a Câmara dos Comuns, os críticos o façam salientando os pontos (talvez os poucos) em que a Câmara dos Comuns tem razão. Acusam a Câmara de ser uma grande tertúlia e de gastar tempo em conversas labirínticas; ora, este é precisamente um aspecto em que os Comuns se assemelham às pessoas normais. Pois se eles apreciam o lazer e as discussões prolongadas, é porque os homens os adoram; e nisso são representativos de Inglaterra. É nesse aspecto que o parlamento mais se aproxima das virtudes viris da taberna.
A verdade nua e crua é a que ficou esboçada na secção introdutória, quando falámos do sentido de casa de família e de propriedade, como falamos agora do sentido de conselho e comunidade. Todos os homens apreciam naturalmente a ideia do lazer, das gargalhadas e da discussão ruidosa e igualitária; mas temos um espectro na sala. Temos consciência do gigantesco desafio moderno a que se chama competição desvairada nos negócios. Os negócios nada têm a ver com o lazer; os negócios não se misturam com a camaradagem; os negócios não fingem ter paciência para as ficções legais e os handicaps fantasistas por via dos quais a camaradagem protege o seu ideal igualitário. Quando empreende a típica e agradável actividade de despedir o próprio pai, o milionário moderno não se refere a ele pela designação de digno funcionário da Laburnum Road, em Brixton. Por esse motivo, surgiu na vida moderna uma moda literária dedicada aos romances de negócios, aos grandes semideuses da ganância e ao país de fadas das finanças. Esta filosofia popular é totalmente despótica e antidemocrática; esta moda é a flor daquele cesarismo contra o qual pretendo aqui protestar. O milionário ideal possui um cérebro de aço, que o enche de força. O facto de o milionário real ir quase sempre buscar a sua força a uma cabeça de madeira não altera o espírito nem a tendência da idolatria. O argumento essencial é o seguinte: «Os especialistas têm de ser déspotas; os homens têm de ser especialistas. Não se pode gerir uma fábrica de sabão numa base igualitária; portanto, não se pode gerir coisa nenhuma numa base igualitária. Um negócio de trigo não funciona com base na camaradagem; portanto, a camaradagem tem de ser eliminada. Temos de produzir uma civilização comercial; portanto, temos de destruir a democracia.» Bem sei que os plutocratas raramente têm imaginação suficiente para se elevar a exemplos superiores como o sabão e o trigo; em geral limitam-se, com notável frescura de espírito, à comparação entre o Estado e uma embarcação. Observava um autor antidemocrático que não gostaria de viajar num navio em que o voto do moço de cabina tivesse o mesmo peso que o voto do capitão. Não será difícil replicar-lhe que houve muitos navios (como o Victoria38, por exemplo) que se afundaram porque um almirante deu uma ordem que qualquer moço de cabina percebia que era uma ordem inadequada. Mas isto é uma resposta para dar num debate; a falácia essencial é, a um tempo, mais profunda e mais simples. O facto elementar é que todos nós nascemos num Estado, e nem todos nascemos a bordo de um navio, como alguns dos grandes banqueiros britânicos. O navio continua a ser uma experiência para especialistas, como o é um sino de mergulhador e uma nave espacial; no caso destes perigos peculiares, é a necessidade de prontidão que gera a necessidade da autocracia. Mas vivemos e morremos no navio do Estado; e, se não conseguirmos encontrar a liberdade, a camaradagem e a componente popular no Estado, não conseguiremos encontrá-las em lado nenhum. Ora, a doutrina moderna do despotismo comercial estabelece que não podemos encontrá-las. Diz esta doutrina que, no seu estado altamente civilizado, as nossas actividades de especialistas não podem ser geridas sem essa brutalidade que dá pelo nome de mandar e despedir, do «velho aos 40» e a restante imundície. E, como é preciso geri-las, apelamos a César. A única pessoa capaz de descer a trabalho tão sujo é o Super-Homem.
Ora bem (e reiterando o meu título), este é um dos disparates do mundo. Trata-se da gigantesca heresia moderna que consiste em alterar a alma humana para a adaptar à respectiva situação, em vez de alterar a situação do homem para a adaptar à alma humana. Se o fabrico de sabão é efectivamente inconsistente com a fraternidade, anule-se o fabrico de sabão – mas não a fraternidade. Se a civilização não pode realmente progredir por via da democracia, anule-se a civilização – mas não a democracia. Seria indubitavelmente preferível regressarmos às comunas de aldeia, desde que fossem efectivamente comunas. Seria indubitavelmente preferível passarmos sem sabão do que passarmos sem a sociedade. Seria indubitavelmente razoável sacrificarmos os fios, as rodas, os sistemas, as especialidades, as ciências físicas e o frenesim das finanças que nos rodeiam a meia hora de felicidade como as que frequentemente vivemos com os nossos camaradas numa taberna comum. Não estou a dizer que seja necessário fazer este sacrifício; estou só a dizer que seria fácil fazê-lo.
III PARTE
O FEMINISMO OU O ERRO
ACERCA DAS MULHERES
I
A SUFRAGISTA NÃO MILITANTE
É preferível adoptar neste capítulo o mesmo processo de justiça mental que foi adoptado no anterior. A minha opinião geral acerca da questão feminina seria calorosamente aplaudida por muitas sufragistas; e não teria dificuldade em a expor sem fazer referências directas à actual controvérsia. Mas, tal como me pareceu mais decente começar por dizer que não apoio o imperialismo, nem sequer no sentido prático e corrente do mesmo, assim também me parece mais decente dizer o mesmo acerca do sufrágio feminino, no sentido prático e corrente do mesmo. Por outras palavras, é justo deixar constância, ainda que de forma apressada, da objecção superficial às sufragistas, antes de avançarmos para as questões realmente subtis que se ocultam por trás do sufrágio feminino.
Pois bem, para acabarmos com este assunto honesto mas desagradável, a objecção às sufragistas não reside no facto de elas serem militantes. Pelo contrário, reside no facto de não serem suficientemente militantes. Uma revolução é uma coisa militar, que possui todas as virtudes militares; uma delas consiste em acabar. Há duas partes que lutam com armas letais, mas que estão sujeitas a determinadas regras de honra arbitrária; a parte que vence assume a governação e passa a governar. O objectivo da guerra civil, como aliás de todas as guerras, é a paz. Ora, as sufragistas não são capazes de suscitar uma guerra civil neste sentido militarista e decisivo; primeiro, porque são mulheres, e depois porque são muito poucas. Mas são capazes de suscitar outra coisa, que é uma coisa completamente diferente. As sufragistas não promovem revoluções, promovem a anarquia; e a diferença entre umas e outra não tem a ver com a violência, mas com a eficácia e a finalidade. Pela sua natureza própria, a revolução produz um governo; mas a anarquia produz apenas mais anarquia. As pessoas podem ter a opinião que quiserem sobre a decapitação de Carlos I e de Luis XVI, mas não podem negar que Bradshaw e Cromwell governaram a Grã-Bretanha, ou que Carnot e Napoleão governaram a França. Houve conquistadores e conquistados; aconteceram coisas. Só se pode decapitar o rei uma vez; mas pode-se arrancar o chapéu ao rei as vezes que se quiser. A destruição é finita, a obstrução é infinita; enquanto uma rebelião tomar a forma de uma simples desordem (em vez de ser uma tentativa de impor uma ordem nova), não tem fim lógico: pode alimentar-se e renovar-se indefinidamente. Se Napoleão não quisesse ser cônsul, se se tivesse contentado em ser um incómodo, talvez conseguisse impedir a criação de um governo saído da Revolução. Mas tal procedimento não mereceria a respeitável designação de rebelião.
É precisamente esta qualidade não militante das sufragistas que constitui o problema superficial do movimento. O problema é que a acção das sufragistas não tem nenhuma das vantagens da violência efectiva, pelo que não permite que se faça um teste. A guerra é uma coisa terrível; mas demonstra clara e irrevogavelmente duas coisas: números e uma coragem antinatural. A pessoa depara com duas questões prementes: quantos são os rebeldes vivos, e quantos são os rebeldes que estão dispostos a morrer. Mas uma pequena minoria, uma minoria empenhada, é capaz de manter eternamente um estado de simples desordem. No caso destas mulheres, temos ainda de ter em conta, naturalmente, a falsidade que é introduzida pelo sexo. É falso que o que está em causa seja uma simples e brutal questão de força. Se fossem os músculos que davam direito de voto a um homem, o cavalo do mesmo homem teria direito a dois votos e o elefante a cinco. A verdade é bastante mais simples; é que a revolta física é a arma instintiva dos homens, como os cascos o são do cavalo e a tromba do elefante. Uma rebelião é sempre uma ameaça de guerra; mas as mulheres brandem uma arma que nunca poderão usar. Há muitas armas que a mulher pode usar, e que usa efectivamente. Se (por exemplo) as mulheres lutassem pelo direito de voto atazanando os homens, obtinham-no num mês; mas convém recordar que, neste caso, era preciso que todas as mulheres atazanassem os seus homens. O que nos conduz ao término da superfície política da questão. A efectiva objecção à filosofia das sufragistas é simplesmente que não condiz com o controlo de milhões de mulheres. Sei perfeitamente que há quem defenda que as mulheres deviam ter direito a voto, quer a maioria o deseje, quer não; mas isto não será um daqueles casos estranhos e infantis, em que se cria uma situação de democracia formal destruindo a democracia de facto? O que poderá decidir o conjunto das mulheres, se não consegue decidir que lugar deve ocupar no Estado? Na prática, estas pessoas estão a dizer que as mulheres podem votar em todos os assuntos, excepto no sufrágio das mulheres.
Ora bem, tendo limpado a consciência desta opinião meramente política e possivelmente impopular, vou agora voltar atrás e tentar discutir a questão em estilo mais lento e agradável, procurando encontrar as origens da posição da mulher no Estado ocidental, e as causas das actuais tradições – ou talvez preconceitos – sobre este tema. Para isso, tenho de voltar a distanciar-me enormemente da mera sufragista dos nossos tempos, remontando a questões que, embora bastante mais antigas, são, em minha opinião, consideravelmente mais arejadas.
II
O PAU UNIVERSAL
Peço ao leitor que, olhando em volta da sala onde se encontra, selecione três ou quatro coisas que tenham acompanhado o homem quase desde o princípio; ou pelo menos de que ouçamos falar desde os primeiros séculos e frequentemente entre as tribos. Calculo que veja uma faca em cima da mesa, um pau a um canto, uma fogueira na lareira. E há-de notar uma característica especial em todos estes objectos: o facto de nenhum deles ser especial. Todas estas coisas ancestrais são universais; são feitas para prover às diferentes necessidades do homem; e, a despeito dos intelectuais vacilantes que metem o nariz em tudo à procura da causa e da origem de costumes antigos, a verdade é que todos eles têm cinquenta causas e uma centena de origens. A faca destina-se a cortar pão, a cortar queijo, a aparar lápis, a cortar o queixo: tem uma miríade de finalidades humanas, umas mais habilidosas, outras mais inocentes. O pau serve, quer para suster um homem, quer para derrubar um homem; quer para apontar como se fosse um poste, quer para segurar como os equilibristas seguram a vara que os equilibra, quer para brincar como quem brinca com um cigarro, quer para matar, qual moca de gigante; pode ser uma muleta ou uma clava; um dedo alongado ou uma perna a mais. E o mesmo se aplica, naturalmente, ao fogo, acerca do qual se produziram ultimamente as mais estranhas opiniões. Parece ter-se tornado corrente a bizarra opinião de que o fogo existe para aquecer as pessoas. Ele existe para aquecer as pessoas, para iluminar a escuridão, para animar os homens, para aquecer pãezinhos, para arejar os quartos, para assar castanhas, para as mães contarem histórias aos filhos, para produzir sombras peculiares nas paredes, para ferver a água da cafeteira, e para ser o centro da casa de um homem e aquele lar pelo qual, como diziam os pagãos, um homem deve estar pronto a morrer.
Ora, a grande marca da modernidade é as pessoas estarem constantemente a propor substitutos para estas coisas antigas; e estes substitutos terem a capacidade de realizar uma coisa, enquanto os objectos antigos tinham a capacidade de realizar dez coisas. O homem moderno prefere acenar com um cigarro a acenar com a bengala; aguça o lápis com um pequeno afiador em vez de usar a faca; e chega mesmo ao ponto de preferir ser aquecido por canos de água quente a sê-lo por uma lareira. Tenho as minhas dúvidas acerca dos afiadores, mesmo na sua função de afiar; e acerca dos canos de água quente, mesmo na sua função de aquecer. Mas, quando pensamos nas outras vantagens que se podiam retirar destas instituições, torna-se patente a horrível arlequinada que é a nossa civilização. E vemos, como que numa visão, um mundo em que um homem tenta cortar o queixo com um afiador; em que um homem tem de aprender a apontar com um cigarro; em que um homem tem de tentar aquecer os pãezinhos à luz de uma lâmpada, e ver castelos vermelhos e dourados na superfície dos canos de água quente.
O princípio a que me refiro pode ser identificado em qualquer comparação entre as coisas antigas e universais e as coisas modernas e especializadas. A finalidade de um teodolito é estar quieto; a finalidade de um pau é balançar num ou noutro ângulo; rodopiar como a roda da liberdade. A finalidade de uma lanceta é lancetar; quando é usada para podar, acutilar, rasgar, cortar cabeças e braços, é um instrumento muito pouco eficaz. A finalidade de uma lâmpada eléctrica é apenas iluminar (desprezível modéstia); e a finalidade de um forno de amianto... qual será a finalidade de um forno de amianto? Um homem que encontrasse um bocado de corda num deserto, podia sempre pensar na quantidade de coisas que se podem fazer com um bocado de corda; e algumas delas são bastante práticas. Pode-se rebocar um barco e lassar um cavalo. Pode-se jogar à cama de gato e preparar estopa. Pode-se construir uma escada de corda para permitir a fuga a uma herdeira que se quer casar com um vilão e pode-se fazer uma forca. O mesmo está longe de acontecer ao infeliz viajante que encontrasse um telefone no deserto. Com um telefone, pode-se telefonar; não se pode fazer mais nada. E, embora fazê-lo seja uma das grandes alegrias da vida, o frenesim é ligeiramente abreviado quando ninguém atende o telefonema. O que eu pretendo dizer com isto é, em suma, que temos de arrancar uma centena de raízes – não basta uma – para conseguirmos desenraizar estes expedientes simples e antigos. Só com grande dificuldade se consegue levar um sociólogo moderno a admitir que os métodos antigos não são tão maus como isso. Acontece porém que os métodos antigos são esplêndidos. Quase todas as instituições antigas são esplêndidas; e algumas delas são mesmo geniais.
Pensemos em três casos, antigos e recentes, e veremos funcionar a tendência geral. Havia sempre uma coisa grande que tinha seis aplicações; hoje em dia, há seis coisas pequenas; ou antes (e este é que é o problema), há cinco e meia. Apesar de tudo, não podemos dizer que esta separação e especialização sejam totalmente inúteis e indesculpáveis. Tenho dado muitas graças a Deus pelo telefone; é bem possível que um dia dê graças a Deus pela lanceta; e há sempre um momento em que estas notáveis e estreitas invenções se tornam necessárias e fantásticas (talvez à excepção do fogão de amianto). Mas não me parece que o mais austero defensor do especialismo possa negar que há nestas instituições antigas e multifacetadas uma componente de unidade e universalidade que pode muito bem ser preservada, nas suas devidas proporções e no respectivo lugar. Espiritualmente, pelo menos, temos de admitir que é necessário um certo equilíbrio universal para nivelar a extravagância dos especialistas. Não seria difícil conduzir a parábola da faca e do pau para regiões mais elevadas. A religião, essa virgem imortal, tem sido uma criada para todo o serviço e uma escrava da humanidade. A religião proporcionou ao homem, quer as leis teóricas de um cosmos inalterável, quer as regras práticas do veloz e emocionante jogo da moralidade. Ensinou lógica aos estudantes e contou histórias às crianças; tinha como função opor-se aos deuses sem nome que toda a carne receia, bem como semear as ruas de prata e escarlate, e reservar um dia para se andar bem vestido e uma hora para se tocarem os sinos. As amplas finalidades da religião foram divididas em especialidades menores, da mesma maneira que os usos da lareira foram separados em canos de água quente e lâmpadas eléctricas. O romance do ritual e do emblema colorido foi apropriado por essa actividade extremamente limitada que é a arte moderna (a chamada arte pela arte) e, na prática moderna, os homens foram informados de que podem usar os símbolos que lhes apetecer, desde que estes não tenham significado algum para eles. O romance da consciência secou, transformando-se na ciência da ética; que pode muito bem ser chamada decência pela decência, uma decência mal nascida de energias cósmicas e estéril de florescimento artístico. Apelar aos deuses obscuros, num apelo amputado de ética e cosmologia, chama-se hoje investigação psíquica. As coisas foram todas separadas umas das outras, e tornaram-se todas frias. Dentro em breve, ouviremos falar de especialistas que dividem a música da letra de uma canção, argumentando que se estragam uma à outra; e eu conheci um homem que defendia abertamente que se separassem as amêndoas das passas. Este mundo transformou-se num grande e selvático tribunal de família de promoção de divórcios; não obstante, há ainda muito quem oiça no fundo da alma o trovão de autoridade dos hábitos humanos; que o homem separe aqueles que o Homem uniu.
Este livro pretende evitar o tema da religião, mas haverá certamente (digo eu) muitos – crentes e não crentes – que concederão que esta capacidade de corresponder a muitas finalidades era uma espécie de força que não devia desaparecer por completo da nossa vida. Como parte do carácter pessoal, até os mais modernos concordarão que ter muitos lados é um mérito, e um mérito que é facilmente ignorado. Este equilíbrio e esta universalidade têm sido, ao longo dos tempos, o ponto de vista de muitos grupos de pessoas. Era o ponto de vista da educação liberal de Aristóteles; da arte universal de Leonardo da Vinci e seus amigos; do augusto amadorismo de personalidades como Sir William Temple39 e o grande conde de Dorset. Este ponto de vista perpassa pela literatura do nosso tempo sob as formas mais erráticas e contraditórias, foi musicado de forma quase inaudível por Walter Pater e enunciado por via de uma sirene de nevoeiro por Walt Whitman. Mas a maioria dos homens sempre foi incapaz de alcançar esta universalidade literal, devido à natureza do trabalho que realizam no mundo. Note-se que não foi devido à existência do referido trabalho. Leonardo da Vinci devia trabalhar bastante; por outro lado, muitos funcionários públicos, polícias de aldeia e canalizadores esquivos poderão dar a impressão de que não trabalham nada, mas não é por isso que dão sinais do universalismo aristotélico. Se o homem comum tem dificuldade em ser universalista, é porque tem de ser um especialista; não só tem de aprender uma profissão, como tem de a aprender tão bem, que consiga sobreviver numa sociedade mais ou menos implacável. Isto aplica-se em geral aos homens, desde o primeiro caçador-recolector, até ao último engenheiro electrotécnico; nas lhes basta agir – têm de ser excelentes. Não basta a Nimrod ser um caçador de qualidade na presença do Senhor, tem de o ser também na presença dos outros caçadores. O engenheiro electrotécnico tem de ser um engenheiro muito electrotécnico, caso contrário será ultrapassado por outros engenheiros ainda mais electrotécnicos que ele. Os próprios milagres do espírito humano de que o mundo moderno se orgulha – e, de uma maneira geral, tem razão em se orgulhar – seriam impossíveis sem uma certa concentração, que afecta mais o puro equilíbrio da razão do que a beatice religiosa. Não há credo tão limitativo como aquela horrível adjuração segundo a qual o sapateiro não deve subir acima da chinela. Deste modo, os mais amplos e bizarros tiros do nosso mundo apontam numa única direcção, e têm uma trajectória precisa: o atirador não pode subir acima do seu tiro, e muitas vezes esse tiro fica terrivelmente aquém dele; o astrónomo não pode subir acima do telescópio, e o telescópio tem um alcance muito curto. Esta situação é como a daqueles homens que ascenderam ao pico mais alto de uma montanha e avistam um horizonte comum, mas depois descem da montanha por caminhos diferentes, dirigindo-se a povoações diferentes, uns viajando mais depressa, outros mais devagar. É razoável que assim seja; tem de haver pessoas que viajem para diferentes povoações; tem de haver especialistas; mas não haverá ninguém que contemple o horizonte? A humanidade terá de ser constituída exclusivamente por cirurgiões especializados e canalizadores peculiares; a humanidade terá de ser toda monomaníaca? A tradição decidiu que só metade da humanidade poderá ser monomaníaca. Decidiu que tem de haver em todas as coisas alguém que faça de tudo um pouco. Mas decidiu também, entre outras coisas, que esta pessoa que faz de tudo um pouco seja uma mulher. A tradição decidiu, bem ou mal, que a especialização e o universalismo serão partilhados pelos dois sexos. Que a esperteza ficará a cargo dos homens e a sabedoria a cargo das mulheres. Porque a esperteza dá cabo da sabedoria; esta é uma das poucas coisas certas e lamentáveis da vida.
Mas este ideal de capacidade abrangente (e senso comum) das mulheres deve ter desaparecido há muito tempo, derretido nas temíveis fornalhas da ambição e do tecnicismo incansável. Um homem tem de ser, em parte, uma pessoa de ideias fixas, porque é uma pessoa que só dispõe de uma arma – e é lançado para o combate sem nada a que se agarre. As exigências do mundo batem-lhe directamente à porta; à mulher, batem indirectamente. Em suma, o homem tem de dar «o seu melhor» (na frase dos livros sobre o sucesso); mas «o seu melhor» é uma parte muito pequena de um homem! Aquilo que não é o seu melhor é frequentemente muito melhor do que o seu melhor. Um homem que seja primeiro violino tem de viver disso; não pode estar sempre a pensar que toca bem gaita de foles, e que é bastante razoável ao bilhar, no florete, na caneta, à mesa de jogo, ao tiro, e como imagem de Deus.
III
A EMANCIPAÇÃO DA
DOMESTICIDADE
E convém recordar, de passagem, que esta pressão que se exerce sobre um homem para que ele desenvolva um aspecto da sua vida nada tem a ver com aquilo a que normalmente se chama o nosso sistema competitivo, porque continuaria existir se estivéssemos sujeitos a qualquer estilo racional de colectivismo. A não ser que estejam dispostos a assistir a uma quebra de nível nos violinos, nos telescópios e na luz eléctrica, os socialistas têm de arranjar maneira de impor ao indivíduo uma pressão moral que o obrigue a concentrar-se nestas coisas. Foi só devido ao facto de os homens serem, em certa medida, especialistas que surgiram os telescópios; e tem indubitavelmente de continuar a haver especialistas para continuar a haver telescópios. Não é pelo facto de se obrigar um homem a viver do salário que o Estado lhe paga que se pode impedir que ele pense sobretudo na dificuldade com que ganha esse salário. Há só uma maneira de preservar neste mundo aquela extrema leveza, aquela atitude mais descontraída que realiza a velha visão do universalismo. E essa maneira é permitir a existência de uma metade parcialmente protegida da humanidade; uma metade que é afectada pelas agressivas exigências do mundo industrial, mas que só o é de forma indirecta. Por outras palavras, tem de haver, em todos os centros de humanidade, um ser humano que esteja centrado num plano mais abrangente; um ser humano que não «dê o seu melhor», mas que se dê todo. A nossa analogia do fogo continua a ser muito prática. O fogo não tem de iluminar como a electricidade, nem de aquecer como a água a ferver; o que o fogo faz é iluminar mais do que a água e aquecer mais do que a luz. A mulher é como o fogo; ou melhor – para colocarmos as coisas na sua verdadeira proporção –, o fogo é como a mulher. Tal como o fogo, a mulher cozinha; não se espera que seja uma cozinheira de primeira, mas que cozinhe; e que cozinhe melhor que o marido, que anda a ganhar o conteúdo dos cozinhados dando aulas de botânica ou britando pedra. Tal como o fogo, a mulher conta histórias aos filhos; não se espera que conte histórias originais e artísticas, mas que conte histórias – e histórias provavelmente melhores que as que seriam contadas por um cozinheiro de primeira. Tal como o fogo, a mulher ilumina e ventila; não o faz por via de revelações extraordinárias ou de impressionantes ventos do pensamento, mas fá-lo melhor do que um homem depois de este ter passado o dia a britar pedras ou a dar aulas. Mas a mulher não pode desempenhar estes deveres universais se também tiver de sofrer a crueldade directa da luta competitiva e burocrática. A mulher tem de ser cozinheira, mas não deve ser uma cozinheira competitiva; tem de ser professora, mas não deve ser uma professora competitiva; tem de ser decoradora, mas não deve ser uma decoradora competitiva; tem de ser modista, mas não deve ser uma modista competitiva. A mulher não deve ter uma profissão, deve ter vinte passatempos; ao contrário do homem, a mulher pode dedicar-se a todas aquelas actividades em que é apenas razoável. Era isto que se pretendia desde o princípio com aquilo a que se chamou a reclusão, ou mesmo a opressão das mulheres. As mulheres não ficavam em casa a fim de terem um espírito limitado; pelo contrário, ficavam em casa para terem um espírito aberto. O mundo fora de casa era de uma extraordinária estreiteza, era um labirinto de caminhos apertados, um manicómio de monomaníacos. A maneira de conseguir que a mulher desempenhasse cinco ou seis profissões – situação pela qual se aproximava de Deus quase tanto como a criança que brinca às mil actividades – era, em parte, limitando-a e protegendo-a. Mas, ao contrário das da criança, as profissões da mulher eram todas verdadeira e quase terrivelmente fecundas; e eram de um tal realismo trágico, que só a universalidade e o equilíbrio da mulher impediam que se tornassem meramente mórbidas. É esta a substância da minha posição acerca do papel da mulher na história. Não nego que as mulheres tenham sido maltratadas, e até torturadas; mas duvido de que tenham sido alguma vez torturadas ao nível a que o são pela absurda tentativa contemporânea de fazer delas, ao mesmo tempo, imperatrizes domésticas e funcionárias competitivas. Não nego que, mesmo no esquema tradicional, as mulheres sofressem mais do que os homens; é por isso que nós lhes tiramos o chapéu. Não nego que estas múltiplas funções femininas fossem exasperantes; mas afirmo que não era por acaso, nem por absurdo, que eram tão variadas. E nem sequer me empenho em negar que a mulher era uma criada; mas pelo menos era uma criada genérica.
A maneira mais rápida de resumir a minha posição é afirmar que a mulher representa a ideia de Sanidade; a mulher é aquele lar intelectual aonde o espírito tem de regressar depois de fazer as suas excursões à extravagância. O espírito que encontra o caminho que o conduz à selva é o do poeta; mas o espírito que não consegue divisar o caminho de regresso a casa é o do lunático. Em todas as máquinas, tem de haver uma peça que se move e uma peça que permanece imóvel; em tudo aquilo que muda tem de haver uma parte que é imutável. E muitos dos fenómenos que os modernos se apressam a condenar mais não são do que elementos desta posição da mulher como centro e pilar da casa de família. Grande parte daquilo que se designa por subserviência e mesmo por maleabilidade feminina mais não é do que a subserviência e a maleabilidade de um remédio universal; a mulher varia como os medicamentos variam: com as doenças. A mulher tem de ser optimista quando tem um marido mórbido, e salutarmente pessimista quando tem um marido despreocupado. Tem de evitar que os outros abusem do Dom Quixote, e que o tirano abuse dos outros. Dizia o rei francês: «Toujours femme varie / Bien fol qui s’y fie»40; mas a verdade é que a mulher varia constantemente e é precisamente por isso que confiamos nela. Corrigir as aventuras e as extravagâncias com o correspondente antídoto de bom senso não é (como parecem pensar os modernos) estar numa posição de espião ou de escravo. É estar na posição de Aristóteles ou (no mínimo dos mínimos) de Herbert Spencer, é ser uma moralidade universal, um sistema de pensamento completo. O escravo lisonjeia; o moralista censura. Em suma, é ser um oportunista no verdadeiro e honroso sentido do termo; termo que, por qualquer razão, é sempre usado no sentido exactamente oposto. Com efeito, supõe-se em geral que um oportunista é um cobarde que se coloca sempre do lado dos mais fortes; pelo contrário, um oportunista é um cavalheiro que se coloca sempre do lado dos mais fracos, como a pessoa que equilibra um barco sentando-se na zona onde há menos gente. As mulheres são oportunistas; e isso é uma actividade generosa, perigosa e romântica.
O último facto em abono da minha tese é bastante claro. Supondo que concedemos que a humanidade se comportou, pelo menos, de uma forma razoável quando se dividiu em duas metades – tipificando, respectivamente, os ideais do talento especial e da sanidade geral (dado que é genuinamente difícil combinar os dois talentos no mesmo espírito) – não é difícil perceber porque foi que a linha divisória acompanhou o sexo, ou seja, porque razão é a mulher o emblema da universalidade e o homem o da especialidade e superioridade. Houve dois gigantescos factos da natureza que determinaram esta situação: primeiro, o facto de as mulheres que cumpriam as suas funções não poderem, literalmente falando, ser especialmente proeminentes em experiências e aventuras; e segundo, o facto de a mesma operação natural ter rodeado as mulheres de crianças muito pequenas, a quem é necessário ensinar, não tanto alguma coisa, mas tudo. Aos bebés, não é preciso ensinar um ofício; é preciso apresentá-los ao mundo. Em resumo, de uma maneira geral, a mulher encontra-se fechada em casa com um ser humano na altura em que este faz todas as perguntas possíveis, e algumas impossíveis. Seria estranho que ela tivesse a estreiteza do especialista. Ora bem, se alguém afirmar que esta tarefa de esclarecimento geral (mesmo quando liberta das regras e dos horários modernos e exercitada com maior espontaneidade por uma pessoa mais protegida) é, em si mesma, excessivamente cansativa e opressiva, eu compreendo essa posição. E a única coisa que posso responder é que pareceu conveniente à nossa raça entregar esse fardo às mulheres, a fim de garantir que continua a haver bom senso no mundo. Mas, quando as pessoas começam a dizer que estes deveres domésticos não são difíceis, mas que são triviais e entediantes, eu desisto da conversa. Porque não consigo perceber, por muito que estique a imaginação, o que significa tal coisa. Quando, por exemplo, se chama escravidão à domesticidade, a dificuldade que se coloca é a que resulta do duplo sentido da palavra. Se por escravidão se entende uma tarefa terrivelmente árdua, concedo que a mulher é escrava do lar, como o homem poderá ser escravo da Catedral de Amiens ou de uma arma em Trafalgar. Mas se se entende que esse trabalho árduo é mais pesado por ser insignificante, desinteressante e de pequena importância para a alma, então repito que desisto da conversa, porque não percebo o significado dessas palavras. Ser a rainha Isabel de uma área precisa, decidir das vendas, dos banquetes, dos trabalhos e das férias; ser Whiteley41 dentro de uma certa área, adquirindo brinquedos, sapatos, lençóis, boas maneiras, teologia e higiene – percebo que tudo isto canse o espírito, mas não consigo perceber de que forma poderá estreitá-lo. Como é que alguém pode defender que ensinar a regra de três simples aos filhos dos outros é uma carreira mais interessante do que ensinar aos próprios filhos como funciona o universo? Como é que alguém pode defender que ser a mesma coisa para toda a gente alarga o espírito e ser tudo para uma pessoa o estreita? Não. A função da mulher é laboriosa, mas é-o por ser gigantesca, e não por ser reduzida. Terei pena das mulheres devido à enormidade da sua tarefa; nunca terei pena delas pela pequenez da mesma.
Mas, ainda que a tarefa essencial das mulheres seja a universalidade, tal não as impede, naturalmente, de albergarem um ou dois profundos, embora em grande medida salutares, preconceitos. De uma maneira geral, a mulher tem mais consciência que o homem de ser apenas metade da humanidade; mas expressa-a (se tal se pode dizer sobre uma senhora) ferrando os dentes nas duas ou três coisas que julga representar. Gostava de observar aqui, entre parêntesis, que grande parte dos recentes problemas oficiais com as mulheres resulta do facto de elas transferirem para coisas sujeitas à dúvida e à argumentação aquela teimosia sagrada que pertence exclusivamente às coisas primárias que a mulher tem obrigação de proteger. Os próprios filhos e o próprio altar devem ser questões de princípio – ou, se o leitor preferir, questões de preconceito. Por outro lado, quem escreveu as Cartas a Júnio42 não deve ser uma questão de princípio nem de preconceito, mas de livre e quase indiferente pesquisa. Mas convença-se uma jovem e enérgica secretária moderna que as cartas foram escritas por Jorge III, e três meses depois ela estará a defender esse ponto de vista, por pura lealdade para com os seus empregadores. As mulheres modernas defendem o seu emprego com a mesma ferocidade com que defendem a domesticidade. Lutam pela secretária e a máquina de escrever como lutam pelo próprio lar, e criam uma espécie de conjugalidade lupina com o invisível director geral da empresa. É por isso que são tão boas empregadas de escritório; e é por isso que não devem sê-lo.
IV
O ROMANCE DA FRUGALIDADE
Mas a maioria das mulheres teve de lutar por coisas bastante mais inebriantes à vista do que a secretária e a máquina de escrever; e não se pode negar que, ao defendê-las, as mulheres elevaram essa qualidade a que se chama preconceito a um grau intenso que chega a ser ameaçador. Mas estes preconceitos acabam sempre por reforçar a posição principal da mulher: que ela tem de ser uma supervisora, uma autocrata de pequeno alcance mas a todos os níveis. Naqueles pontos – e são um ou dois – em que ela interpreta mal a posição do homem, é quase sempre com o fito de preservar a sua. Os dois pontos em que a mulher, efectivamente e por si mesma, é mais tenaz podem ser basicamente resumidos ao ideal da frugalidade e ao ideal da dignidade.
Infelizmente, este livro é escrito por um homem e estas duas qualidades, se bem que não sejam odiosas aos homens, são odiosas num homem. Mas, para resolvermos a questão dos sexos dentro dos limites da razoabilidade, os homens têm de fazer um esforço de imaginação para compreender a atitude das mulheres relativamente a estas duas coisas. A principal dificuldade reside talvez na coisa a que se chama frugalidade; nós, os homens, estimulamo-nos de tal maneira uns aos outros a gastar à esquerda e à direita, que perder dinheiro acabou por se tornar uma espécie de atitude cavalheiresca e poética. Contudo, vistas as coisas de um ponto de vista mais alargado e mais honesto, não é bem assim.
A frugalidade é que é verdadeiramente romântica; a economia é mais romântica que a extravagância. Deus sabe que eu não tenho qualquer interesse pessoal nesta matéria; não me lembro de ter poupado um cêntimo desde que nasci. Mas é verdade que a economia, bem entendida, é mais poética. A frugalidade é poética porque é criativa; o desperdício é pouco poético porque é um desperdício. É prosaico deitar dinheiro à rua, porque é prosaico deitar à rua o que quer que seja; é negativo; é uma confissão de indiferença, ou seja, uma admissão de fracasso. A coisa mais prosaica de uma casa é o caixote do lixo; e a grande objecção ao novo estilo de propriedade, que é exigente e estética, é simplesmente que em casa de tão grandes dimensões o caixote do lixo tem de ser maior que a moradia. Se um homem conseguisse utilizar todas as coisas que tem no caixote do lixo, era mais genial que Shakespeare. Quando a ciência começou a usar subprodutos, quando a ciência percebeu que se podiam fazer cores a partir de alcatrão de hulha, deu a sua maior – talvez a sua única – prova de verdadeiro respeito pela alma humana. Ora bem, o objectivo de qualquer mulher é usar subprodutos; ou, por outras palavras, remexer no caixote do lixo.
Um homem só pode compreender verdadeiramente esta atitude se pensar na necessidade de solucionar um problema só com os materiais que se podem encontrar numa casa num dia de chuva. A actividade diária dos homens é geralmente levada a cabo com tão rígida veneração pela ciência moderna, que a frugalidade – o recurso a potenciais auxílios aqui e ali – se lhe tornou quase incompreensível. As grandes situações em que um homem depara com a frugalidade são, como disse, quando tem de brincar a qualquer coisa dentro de quatro paredes: quando está a jogar à mímica e o tapete da lareira tem de fazer de casaco de peles, e o abafador do chá de chapéu de coco; ou quando precisa de madeira e cartão para fazer um teatro de fantoches e só tem em casa lenha da lareira e caixas de sapatos. É nestas circunstâncias que o homem tem um vislumbre casual, uma simpática paródia do que é a frugalidade. Acontece que há muito boas donas de casa que fazem o mesmo jogo todos os dias, com restos de queijo e remendos de seda, e não o fazem por serem mesquinhas mas, pelo contrário, por serem magnânimas; porque querem que a sua misericórdia criativa se estenda a todas as suas obras, que nem uma sardinha seja destruída ou atirada para o vazio como se fosse lixo, mesmo depois de a pilha estar completa.
O mundo moderno tem de compreender (seja em teologia, seja noutras coisas) que um ponto de vista pode ser vasto, amplo, universal e liberal, e no entanto entrar em conflito com outro ponto de vista, também ele vasto, amplo, universal e liberal. Nunca há guerra entre duas seitas; a guerra é sempre entre duas Igrejas Católicas. A única colisão possível é a colisão de um cosmo com outro. Assim, convém começar por esclarecer que este ideal económico feminino é uma componente daquela variedade feminina de perspectiva e arte de viver que já atribuímos ao sexo: a frugalidade não é uma coisa pequena, tímida ou provinciana; a frugalidade faz parte daquele ideal da mulher que observa de todos os lados, que contempla de todas as janelas da alma e que responde por tudo. Porque não há casa humana onde não haja um buraco por onde entra o dinheiro, e cem buracos por onde ele sai; o homem tem a ver com o buraco por onde ele entra e a mulher com aqueles por onde ele sai. Mas, embora a sovinice da mulher faça parte da sua respiração espiritual, não deixa de ser verdade que a faz entrar em conflito com aquele tipo de respiração que é específico dos homens da tribo. Fá-la entrar em conflito com aquela catarata informe de camaradagem, de festejos caóticos e debates ensurdecedores a que fizemos referência na secção anterior. O próprio facto de estes gostos dos sexos serem eternos coloca-os em posições antagónicas; porque um deles representa a vigilância universal, enquanto o outro representa uma saída quase infinita. Em parte devido à natureza da sua fraqueza moral, e em parte devido à natureza da sua força física, o homem tem normalmente tendência para expandir as coisas para uma espécie de eternidade; acha sempre que um jantar é para durar toda a noite; e que a noite dura para sempre. Quando as operárias dos bairros pobres vão bater à porta dos bares a tentar levar os maridos para casa, as «assistentes sociais» imaginam sempre que os maridos são um caso trágico de alcoolismo, e as mulheres umas santas que sofrem horrores. Não lhes passa pela cabeça que as pobres mulheres estão a fazer – em condições menos favoráveis, é certo – precisamente o mesmo que as anfitriãs da classe alta quando tentam impedir que os homens prolonguem eternamente as suas conversas pós-prandiais a pretexto dos charutos, e lhes pedem que venham partilhar os mexericos com as esposas. Aquelas mulheres não se sentem exasperadas apenas com a quantidade de dinheiro que os maridos gastam em cerveja; também se sentem exasperadas com a quantidade de tempo que eles gastam à conversa. Não é apenas o que entra na boca, é também o que sai da boca que, na opinião delas, conspurca um homem. A objecção que levantam contra a actividade argumentativa (a mesma que todas as suas irmãs, de todos os níveis sociais, levantam) é a ridícula objecção de que um argumento nunca convenceu ninguém; como se um homem estivesse interessado em dominar fosse quem fosse por via da argumentação. Mas o verdadeiro preconceito feminino neste ponto não deixa de ter o seu fundamento; o verdadeiro sentimento é o seguinte: a maioria dos prazeres masculinos tem uma qualidade efémera. Uma duquesa pode levar um duque à ruína por um colar de diamantes; mas o colar fica. Um vendedor ambulante pode levar a mulher à ruína por um barril de cerveja; mas a cerveja desaparece. A duquesa discute com outra duquesa a fim de esmagar, de produzir um resultado; o vendedor ambulante não discute com outro vendedor ambulante a fim de o convencer, mas apenas com o objectivo de apreciar, quer o som da própria voz, quer a nitidez das próprias opiniões, quer a sensação da companhia de outros homens. As diversões masculinas têm uma componente de grandiosa inutilidade: deita-se o vinho num balde sem fundo; o pensamento mergulha num abismo sem fundo. É por tudo isto que as mulheres se opõem aos pubs – e ao parlamento. O que elas pretendem é evitar o desperdício; e o pub e o parlamento são verdadeiros palácios de desperdício. Nas classes altas, o pub é o clube, mas isso é completamente indiferente. Em qualquer das classes, a objecção das mulheres aos pubs é uma objecção perfeitamente definida e racional, e resume-se no facto de os pubs promoverem um desperdício de energias que podiam ser usadas em casa.
E aquilo que se aplica à frugalidade feminina, por oposição ao desperdício masculino, também se aplica à dignidade feminina, por oposição à turbulência masculina. A mulher tem uma ideia fixa e muito bem fundada de que, se não for ela a insistir nas boas maneiras, mais ninguém o fará. Os bebés nem sempre se saem muito bem em termos de dignidade, e os homens adultos são muito pouco apresentáveis. É verdade que há muitos homens que são bastante delicados, mas não ouvi falar de nenhum que não o fosse, ou por estar a tentar fascinar uma mulher, ou por obediência a outra mulher. Já o ideal feminino da dignidade, tal como o ideal feminino da frugalidade, tem raízes mais profundas, e pode muito bem ser mal entendido; ele assenta, em última análise, numa ideia forte de isolamento espiritual, a mesma ideia que faz da mulher um ser religioso. As mulheres não gostam de ser dissolvidas; não gostam de multidões e evitam-mas. Aquele anonimato da conversa de clube a que fizemos referência seria simples impertinência no caso das senhoras. Lembro-me de uma dama artística e apaixonada me ter perguntado – estávamos os dois instalados numa das suas monumentais salas de estar – se eu achava possível a camaradagem entre os sexos, e porque não. Evitei dar-lhe a resposta óbvia, que seria a mais sincera: «Porque se eu a tratasse como uma camarada durante dois minutos, a senhora punha-me fora de sua casa.» A única regra segura nesta matéria é tratar sempre com uma mulher, e nunca com as mulheres. «Mulheres» é um termo depravado; tenho-o usado repetidamente neste capítulo, mas soa-me sempre a canalha. É um termo que cheira a cinismo e hedonismo oriental. Uma mulher é uma rainha. Um conjunto de mulheres é um harém à solta.
Não estou a dar a minha opinião, estou a dar a opinião de quase todas as mulheres que conheço. É pouco justo afirmar que uma mulher odeia outras mulheres individualmente; mas parece-me que é bastante verdade que uma mulher detesta as outras mulheres quando se apresentam em molho. E isto não se deve ao facto de desprezar o próprio sexo, mas ao facto de o respeitar; e de respeitar em especial a santidade e a independência de cada indivíduo, que são representadas, em termos de boas maneiras, pela ideia de dignidade; e em termos morais, pela ideia de castidade.
V
A FRIEZA DE CLOÉ
Ouve-se falar com muita frequência no erro humano que aceita aquilo que é fictício e aquilo que é real. Mas convém recordar que é comum, quando se trata de coisas que não conhecemos bem, confundirmos o que é real com o que é fictício. É certo que um jovem pode pensar que a peruca de uma actriz é cabelo verdadeiro; mas também é certo que uma criança pode pensar que o cabelo de um negro é uma peruca. Pelo facto de ser estranho e bárbaro, o lanoso selvagem parecer-lhe-á estranhamente limpo e asseado. Todos detectámos já o mesmo fenómeno nas cores fixas e quase ofensivas das coisas que nos são estranhas, como as aves e as flores tropicais. As aves tropicais parecem brinquedos; e as flores tropicais parecem artificiais, parecem de cera. Esta questão é profunda e, a meu ver, está relacionada com a divindade; seja como for, é um facto que quando vemos as coisas pela primeira vez, temos imediatamente a sensação de que se trata de criações de ficção; sentimos o dedo de Deus. Só quando nos habituamos a elas e começamos a ficar com os cinco sentidos embotados, é que elas nos parecem estranhas e desprovidas de finalidade; com os topos informes das árvores e as nuvens em movimento. O que primeiro nos impressiona é o plano da Natureza; só depois, através da experiência e de uma monotonia quase fantástica, é que sentimos a estranheza e a confusão que estão por trás desse plano. Se um homem visse as estrelas abruptamente e por acidente, achá-las-ia tão alegres e tão artificiais como um fogo de artifício. Falamos da loucura que consiste em pintar um lírio; mas se víssemos um lírio sem estar à espera, achávamos que era pintado. Dizemos que o demónio não é tão negro como o pintam; mas essa expressão é, só por si, um testemunho da afinidade entre aquilo a que chamamos vívido e aquilo a que chamamos artificial. Se o sábio moderno tivesse um vislumbre que fosse da relva e do céu, diria que a relva não é tão verde como a pintam, e que o céu não é tão azul como o pintam. Se pudéssemos ver o universo inteiro de repente, parecer-nos-ia um brinquedo de cores vivas, da mesma maneira que o calau da América do Sul nos parece um brinquedo de cores vivas. E são-no – um e outro.
Mas não era este aspecto – o ar surpreendentemente artificial de todos os objectos que nos são estranhos – que eu queria tratar. Queria apenas referir, como orientação de análise histórica, que não devemos surpreender-nos com o facto de as coisas produzidas em culturas muito diferentes da nossa nos parecerem artificiais; temos de nos convencer de que, em 90% dos casos, estas coisas são clara e quase indecentemente honestas. Fala-se do classicismo imobilista de Corneille e da pompa empoada do século XVIII, mas estas frases são muito superficiais. Nunca houve épocas artificiais. A idade da razão nunca existiu. Os homens sempre foram homens e as mulheres mulheres; e o generoso apetite de uns e outras sempre foi uma expressão de paixão e de verdade. Talvez nos pareça que eles se exprimem de maneira um tanto rígida e bizarra; mas também as mais grosseiras pantomimas, as mais patológicas peças de teatro do nosso tempo hão-de parecer rígidas e bizarras aos nossos descendentes. Mas os homens nunca falaram senão de coisas importantes; e o melhor tratamento que foi dado à força feminil que vamos discutir a seguir é talvez aquele que se encontra num velho e poeirento volume de poesia, da autoria de uma pessoa de qualidade.
O século XVIII é considerado um período de artificialidade, pelo menos nas atitudes exteriores; mas a verdade é que as coisas não são assim tão simples. No nosso uso corrente, a noção de artificialidade indica uma tentativa indefinida de enganar; e o século XVIII era demasiadamente artificial para enganar fosse quem fosse. Este século cultivava a mais completa das artes, que é aquela que não esconde a arte. As suas modas e os seus costumes revelavam a natureza promovendo o artifício; por exemplo, mandava a moda que todas as cabeças andassem cobertas de cabelos brancos. Seria absurdo afirmar que se tratava de uma humildade bizarra que ocultava a juventude; mas pelo menos não era uma moda que aderisse ao perverso orgulho que leva a ocultar a velhice. De acordo com a moda do século XVIII, as pessoas não fingiam que eram todas novas, antes acordavam em ser todas velhas. O mesmo se aplica aos costumes mais estranhos e bizarros; eram uma gente peculiar, mas não eram falsos. Uma dama podia não ser tão vermelha como a pintam, mas não era manifestamente tão preta como a maquilhagem levaria a supor.
Mas a razão pela qual introduzo o leitor nesta atmosfera das ficções mais antigas e mais honestas é para que ele possa ser induzido a ter paciência por momentos com um certo elemento que é muito comum na decoração e na literatura daquela época e dos dois séculos que a antecederam. E é preciso referir este aspecto neste contexto, porque se trata precisamente de uma daquelas coisas que parecem superficiais como o pó-de-arroz, mas que não realidade são tão profundas com a raiz dos cabelos.
Nas velhas canções de amor, todas elas mui floridas e pastorais, e em especial nas canções do século XVII e XVIII, encontramos constantes censuras às mulheres por causa da sua frieza, incessantes e insípidas analogias que assimilam os olhos das mulheres às estrelas do norte, o coração da mulher ao gelo, o peito da mulher à neve. Ora, a maioria das pessoas sempre viu nessas frases repetidas meros conjuntos de palavras mortas, uma espécie de papel de parede sem vida. Mas a mim parece-me que aqueles velhos poetas arrogantes que escreviam acerca da frieza de Cloé se tinham apercebido de uma verdade psicológica que quase todos os romances realistas do nosso tempo ignoram. Quando querem referir que as mulheres aterrorizam os maridos, os nossos romancistas põem-nas a rolar pelo chão, a ranger os dentes, a atirar com coisas e a envenenar-lhes o café; e tudo isto com base na estranha teoria de que as mulheres são aquilo a que se chama emocionais. A verdade porém é que o velho formato frígido está bastante mais próximo dos factos vitais. Quando falam com sinceridade, os homens reconhecem em geral que a qualidade mais terrível das mulheres, seja na amizade, na corte ou no casamento, não é serem emocionais, é serem desprovidas de emoções.
Existe uma terrível armadura de gelo, que pode muito bem ser uma protecção legítima de um organismo delicado; porém, seja qual for a explicação, o que não está certamente em causa é o facto. O grito instintivo da mulher irada é: noli me tangere. Em minha opinião, esta é a mais óbvia e simultaneamente menos banalizada instância de uma qualidade fundamental da tradição feminina, que no nosso tempo tende a ser extraordinariamente mal entendida, quer pelo palavreado dos moralistas, quer pelo palavreado dos imoralistas. O seu nome próprio é modéstia; no entanto, como vivemos numa época de preconceitos e não podemos chamar as coisas pelos seus nomes, cederemos a uma nomenclatura mais moderna e chamar-lhe-emos dignidade. Mas, como quer que lhe chamemos, trata-se sempre daquela coisa a que um milhar de poetas e um milhão de amantes chamaram a frieza de Cloé. É algo que é afim do clássico e que é pelo menos o oposto do grotesco. E, uma vez que estamos aqui a falar principalmente de tipos e símbolos, uma das melhores encarnações desta ideia é talvez o mero facto de as mulheres usarem saia. É absolutamente típico da fanática pirataria que passa hoje por emancipação que ainda recentemente se tenha tornado comum as mulheres «avançadas» reclamarem o direito a usar calças; um direito que é tão grotesco como o de usar um nariz falso. Não faço ideia se o facto de usar uma saia em cada perna contribui significativamente para a liberdade das mulheres; talvez as mulheres turcas possam dar alguma informação sobre o assunto. Mas se as mulheres ocidentais arrastam (por assim dizer) as cortinas do harém atrás de si, é bem certo que esta mansão de tecido não foi pensada para uma prisão ambulante, mas para um palácio ambulante. É bem certo é que a saia não é um sinónimo da submissão, mas da dignidade da mulher; afirmação que pode ser demonstrada pelo mais simples dos testes. Governante algum usaria deliberadamente os atavios reservados aos escravos; juiz algum estaria disposto a aparecer mal amanhado em público. Ora, quando os homens querem impressionar verdadeiramente – seja como juízes, como sacerdotes ou como reis –, usam saias, usam essas vestes compridas que são sinónimo da dignidade feminina. O mundo está sujeito ao domínio da combinação; pois se até os homens usam combinação quando querem dominar!
VI
O PEDANTE E O SELVAGEM
Dizemos pois que a mulher sustenta com dois braços fortes estes dois pilares da civilização; e dizemos também que não seria capaz de o fazer se não ocupasse a posição que ocupa, a sua curiosa posição de omnipotência particular, de universalidade em pequena escala. O primeiro elemento é a frugalidade; e não me refiro à frugalidade destrutiva do avarento, mas à frugalidade criativa do camponês; o segundo elemento é a dignidade, que mais não é do que a expressão de uma personalidade e uma privacidade sagradas. Já sei qual é a pergunta que vai ser abrupta e automaticamente feita por todos aqueles que conhecem os monótonos truques e reviravoltas da moderna contenda sexual. A pessoa progressista começará imediatamente a perguntar se estes instintos serão inerentes e inevitáveis na mulher, ou se serão meros preconceitos, resultantes da sua história e da sua educação. Pois bem, não é minha intenção discutir se é possível educar as mulheres de tal forma que elas abandonem os seus hábitos de frugalidade e dignidade; e isto por duas razões. A primeira é que se trata de uma questão que não tem resposta possível; e é por isso que os modernos a apreciam tanto. Pela própria natureza do caso, é obviamente impossível decidir se alguma das peculiaridades do homem civilizado foi estritamente necessária à civilização. Não é evidente (por exemplo) que o hábito de andar de pé fosse a única via para o progresso humano. Podia ter havido uma civilização de quadrúpedes, em que um cavalheiro se levantasse de manhã para ir à cidade e calçasse quatro botas. Como podia haver uma civilização de répteis, em que ele fosse para o escritório a arrastar-se sobre o ventre; é impossível afirmar que tais criaturas não podiam ser inteligentes. O máximo que podemos dizer é que o homem que conhecemos anda erecto; e que a mulher é uma entidade que é quase mais erecta que as coisas erectas.
O segundo ponto é o seguinte: de uma maneira geral, preferimos que as mulheres (e os próprios homens) andem erectas; por esse motivo, não gastamos a nobre vida que nos foi concedida a inventar outras maneiras de elas se deslocarem. Em suma, a segunda razão para não especular sobre a possibilidade de as mulheres se libertarem destas peculiaridades é que não quero que se libertem delas; nem elas o querem. Não vou cansar a minha inteligência a inventar formas de conseguir que a humanidade desaprenda de tocar violino e de andar a cavalo; ora, a arte da domesticidade parece-me tão especial e tão valiosa como as restantes artes da nossa raça. Nem me proponho entrar em especulações absurdas e inúteis acerca da maneira como a mulher era ou é considerada naqueles tempos primitivos que não somos capazes de recordar, ou nos países selvagens que não conseguimos compreender. Mesmo que estes povos tenham segregado as mulheres por motivos baixos ou bárbaros, as nossas razões não o são; e assalta-me a tenaz suspeita de que os sentimentos destes povos eram na realidade, sob outras formas, muito semelhantes aos nossos. Um comerciante impaciente, um missionário superficial, passa por uma ilha e vê uma mulher a cultivar os campos, enquanto o homem toca flauta; e conclui imediatamente que o homem é um simples senhor da criação, enquanto a mulher é uma simples serva. Não se lembra de que pode observar exactamente a mesma coisa em metade dos jardins das moradias de Brixton, pelo simples facto de que as mulheres são, a um tempo, mais conscienciosas e mais impacientes, enquanto os homens são mais calmos e mais sedentos de prazeres. É portanto provável que a vida no Havai não difira muita da vida em Hoxton. Ou seja, a mulher não trabalha porque o homem a manda trabalhar e ela obedece. É o contrário: a mulher trabalhar porque mandou o homem trabalhar e ele não obedeceu. Não quero dizer que a verdade se reduza a isto; mas afirmo que não conhecemos suficientemente a alma dos selvagens para saber que isto não é verdade. E o mesmo se passa nas relações da nossa ciência apressada e superficial com o problema da dignidade e da modéstia sexual. Os investigadores deparam em todo o mundo com cerimónias fragmentárias em que a noiva finge uma espécie de relutância, se esconde do marido ou foge dele; e os investigadores proclamam pomposamente que estão perante uma sobrevivência do Casamento por Captura. Nem percebo porque é que não dizem que o véu que é lançado sobre a noiva é, no fundo, uma rede de pesca. Duvido muito de que as mulheres se tenham alguma vez casado por captura. Julgo que sempre fingiram ser capturadas; como continuam a fingir.
É igualmente óbvio que estas duas devoções necessárias, a frugalidade e a dignidade, têm necessariamente de entrar em colisão com o palavreado, o desperdício e a perpétua busca de prazer dos homens. As mulheres sensatas permitem estas inclinações masculinas; as mulheres insensatas tentam esmagá-las; mas todas as mulheres tentam contrariar estas tendências, e fazem muito bem. Toda a gente sabe que, em muitas casas deste país, e ao contrário do que diz a canção, a rainha está no quarto a contar o dinheiro e o rei está na sala a comer pão com mel. Mas tem de ficar muito claro que o mel foi conquistado pelo rei no quadro de uma guerra heróica. O conflito está presente em velhas esculturas góticas e em obstinados manuscritos gregos. Em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as tribos e aldeias, se tem travado esta grande guerra dos sexos entre a casa e o pub. Há uma colectânea de poemas ingleses medievais que está dividida em várias secções, intituladas «Canções religiosas», «Canções de bares», etc.; e a secção intitulada «Poemas da vida doméstica» consiste exclusivamente (mas exclusivamente mesmo) em queixas de maridos perseguidos pelas mulheres. E, embora o inglês fosse arcaico, as palavras eram, em muitos casos, exactamente as mesmas que eu tenho ouvido nas ruas e nos pubs do meu bairro: protestos a solicitar um prolongamento do tempo e da conversa, protestos com a impaciência nervosa e o devorador utilitarismo da mulher. É esse, afirmo eu, o conflito, que nunca pode deixar de ser um conflito; mas o objectivo da moral e da sociedade é conseguir que ele continue a ser um conflito entre amantes.
VII
A MODERNA RENDIÇÃO
DA MULHER
Mas neste cantinho chamado Inglaterra, neste final de século, ocorreu uma coisa estranha e surpreendente. Este conflito ancestral parece ter desaparecido silenciosa e abruptamente; um dos sexos rendeu-se subitamente ao outro. No começo do século XX e ao longo dos últimos anos, a mulher rendeu-se ao homem em público. A mulher reconheceu, séria e oficialmente, que o homem sempre tinha tido razão; que o pub (ou o parlamento) é efectivamente mais importante que a casa de família; que a política não é (como a mulher sempre defendeu) uma desculpa para os copos de cerveja, mas é uma solenidade sagrada diante da qual as novas mulheres devem ajoelhar; que os faladores patriotas da taberna não são apenas admiráveis, mas invejáveis; que a conversa não é uma perda de tempo, e portanto (certamente como consequência) que as tabernas não são uma perda de dinheiro. Nós, os homens, já nos tínhamos habituado a que as nossas mulheres, as nossas mães, as nossas avós e as nossas tias-avós nos brindassem com um coro de expressões de desprezo pelos nossos passatempos favoritos: o desporto, as bebidas e a política partidária. É então que entra em cena a sra. Pankhurst43, reconhecendo de lágrimas nos olhos que as mulheres estavam enganadas e que os homens é que tinham razão; e implorando humildemente que a admitam nem que seja no pátio exterior do templo, de onde ela possa ter um vislumbre dos méritos masculinos que as suas irmãs tão imprevidentemente haviam desprezado.
Ora, e como seria de esperar, esta novidade perturba-nos e paralisa-nos. No decurso deste velho conflito entre o público e o privado, tanto os homens como as mulheres se permitiram exageros e extravagâncias, porque tinham de manter a sua posição. Nós dizíamos às nossas mulheres que a sessão do parlamento se tinha prolongado por razões muito importantes; mas não nos passava pela cabeça que as nossas mulheres acreditassem nisso. E dizíamos que toda a gente devia votar, como as nossas mulheres diziam que não se pode fumar na sala de estar. A ideia era a mesma nos dois casos. «Não é muito importante, mas se não agarrarmos estas coisas, é o caos.» Dizíamos que esta ou aquela pessoa eram absolutamente necessárias ao país. Mas sabíamos perfeitamente que não há nada que seja absolutamente necessário ao país, excepto que os homens sejam homens e as mulheres sejam mulheres. Sabíamos isto; e pensávamos que as mulheres o sabiam ainda com mais clareza; e pensávamos que as mulheres o diriam. De repente, sem avisar, as mulheres começaram a dizer uma série de disparates em que nem nós acreditávamos quando os dizíamos. A solenidade da política; a necessidade do direito de voto; a necessidade desta ou daquela pessoa – tudo isto flui em diáfana corrente verbal dos lábios das oradoras sufragistas. Presumo que em todos os desaguisados, por muito antigos que sejam, a pessoa tem uma vaga aspiração de conquistar; mas nós nunca quisemos conquistar as mulheres de forma tão completa. Só tínhamos a esperança de que elas nos dessem um pouco mais de liberdade para fazermos os nossos disparates; nunca pensámos que elas os aceitassem com seriedade, como se não fossem disparates. O que significa que eu me sinto a nadar nesta situação; nem sei se me sinta aliviado ou furioso com esta substituição da fraca palestra pública pela forte palestra de bastidores. E não sei o que fazer com a submissa e penitente sra. Pankhurst. Esta rendição da mulher moderna tomou-nos a todos de tal maneira de surpresa, que temos de fazer uma pausa para percebermos o que ela quer realmente dizer.
Como já observei, há uma resposta simples para tudo isto; não estamos a falar da mulher moderna, mas de cerca de uma em mil mulheres modernas. Este facto é importante para um democrata; mas é muito pouco importante para o espírito tipicamente moderno. Ambos os partidos tipicamente modernos defendem um governo pelos poucos; a única diferença é que uns defendem que os poucos devem ser conservadores e outros que devem ser progressistas. Que o mesmo é dizer – de forma algo primária, talvez – que uns confiam numa minoria de ricos e outros numa minoria de loucos. Mas, neste estado de coisas, o argumento democrático perde obviamente o seu alcance; e somos levados a aceitar a minoria proeminente pelo simples facto de ela ser proeminente. Eliminemos por completo do nosso espírito os milhares de mulheres que detestam esta causa, e os milhões de mulheres que nunca ouviram sequer falar dela. Concedamos que o povo inglês não está, e não estará durante muito tempo, dentro da esfera da política pragmática. Limitemo-nos a afirmar que estas mulheres queriam ter direito de voto e a perguntar-lhes o que é um voto. Se perguntarmos a estas senhoras o que é um voto, obteremos uma resposta muito vaga. Em regra, é a única pergunta para a qual elas não estão preparadas. Porque a verdade é que funcionam principalmente por precedente; pelo mero facto de os homens já terem direito a voto. Assim, longe de ser um movimento revoltoso, este movimento é na realidade muito conservador; é um movimento que provém do mais íntimo da constituição britânica. Mas façamos uma abordagem mais ampla e perguntemo-nos qual é o objectivo e o sentido último desta estranha situação chamada votação.
VIII
A MARCA DA FLOR-DE-LIS
Desde os alvores do tempo que todas as nações tiveram governos; e todas as nações tiveram vergonha dos seus governos. Não há coisa tão nitidamente falaciosa como supor que, em períodos mais agrestes ou mais elementares da história, as actividades de governar, julgar e punir eram perfeitamente inocentes e dignas. Estas coisas sempre foram consideradas castigos em consequência da Queda; componentes, em si mesmas desagradáveis, da humilhação da humanidade. Que o rei não se podia enganar nunca foi mais do que uma ficção legal; e continua a ser uma ficção legal. A doutrina do direito divino não era uma doutrina idealista, mas realista, uma forma prática de governar no meio das ruinas da humanidade; era uma muito pragmática doutrina de fé. A base religiosa da governação não residia tanto no facto de as pessoas depositarem a sua confiança nos príncipes, como no facto de não depositarem a sua confiança em nenhum filho de homem. E o mesmo se passou com todas as instituições desagradáveis que desfiguram a história humana. A tortura e a escravidão nunca foram consideradas coisas agradáveis; sempre foram tidas por males necessários. Um pagão referia o facto de um homem ter dez escravos no mesmo tom em que um moderno homem de negócios refere o facto de um mercador despedir dez empregados: «É horrível; mas se não for assim, como é que se consegue dirigir a sociedade?» Um escolástico medieval referia a possibilidade de um homem ser queimado na fogueira no mesmo tom em que um moderno homem de negócios refere a possibilidade de se matar um homem à fome: «É uma forma chocante de tortura; mas como é que se consegue organizar um mundo sem dor?» É possível que uma sociedade futura encontre maneira de evitar a questão da fome como a nossa encontrou maneira de evitar a questão das fogueiras. E, já que estamos a falar no assunto, é igualmente possível que uma sociedade futura restabeleça a tortura legal, com a roda e os molhos de lenha. A América, que é um país moderníssimo, introduziu, com um vago sabor científico, um método a que chama «terceiro grau», e que consiste, muito simplesmente, na extorsão de segredos por via da fadiga nervosa; coisa que está, reconheça-se, muito próxima da extorsão de segredos por via da dor física. E na América isto é legal e científico. A América vulgar e amadora limita-se, evidentemente, a queimar pessoas à luz do dia, como fazia nas guerras da Reforma. Mas, embora haja castigos que são mais inumanos que outros, não há nenhum castigo que seja humano. Enquanto um grupo de dezanove homens reclamarem o direito – seja em que sentido e sob que forma for – de pegar no vigésimo homem e lhe infligir algum nível, ainda que pequeno, de desconforto, o procedimento será humilhante para todos os implicados. E a prova de que sempre assim foi reside no facto de os carrascos, os carcereiros e os algozes sempre terem sido olhados, não apenas com medo, mas com desprezo; ao passo que os assaltantes, os impostores, os piratas e os fora-da-lei eram olhados com indulgência, e até admiração. Matar um homem ilegalmente era perdoado; matar um homem legalmente era imperdoável. Um homem que se envolvesse num duelo de cara descoberta quase podia brandir a arma; mas o executor tinha de andar de cara coberta.
Este é o primeiro e essencial elemento da governação: a coacção; trata-se de um elemento necessário, embora pouco nobre. Permita-se-me observar, de passagem, que quando as pessoas declaram que um governo assenta na força, estão a dar um admirável exemplo do atabalhoado e confuso cinismo da modernidade. Um governo não assenta na força. Um governo é a força, e assenta no consentimento ou numa concepção de justiça. Um rei ou uma comunidade que consideram que determinada coisa é anormal e perversa usam a força geral para esmagar essa coisa; a força é a sua arma, mas a convicção é a sua única sanção. É a mesma coisa que dizer que a verdadeira razão de ser dos telescópios são as lentes. Mas, seja qual for a razão, a verdade é que o acto da governação é coercivo e está sobrecarregado com as dolorosas e grosseiras qualidades da coerção. E se alguém perguntar de que serve insistir na fealdade desta tarefa que é a violência de Estado, dado que a humanidade está condenada a utilizá-la, tenho uma resposta muito simples. Seria inútil insistir se toda a humanidade estivesse condenada a isso; mas não é irrelevante insistir na fealdade da referida tarefa enquanto metade da humanidade estiver isenta de a realizar.
Assim, pois, um governo é sempre coercivo; mas acontece que nós criámos uma forma de governação que não é apenas coerciva, mas colectiva. Há dois tipos de governo, como já observei: o despótico e o democrático. A aristocracia não é uma forma de governo, é um motim. Os mais inteligentes apologistas da aristocracia, sofistas como Burke e Nietzsche, nunca reclamaram para a aristocracia outras virtudes que não as do motim, virtudes acidentais como a coragem, a variedade e a aventura. Não se conhece caso nenhum em que a aristocracia tenha estabelecido uma ordem universal e aplicável, como fizeram os déspotas e as democracias; como os últimos césares criaram a lei romana e os últimos jacobinos criaram o Código de Napoleão. A primeira destas formas elementares de governação – o governo pelo rei ou o chefe – não nos interessa especialmente para a questão dos sexos. Voltaremos a ela mais adiante, quando fizermos notar as profundas diferenças entre a forma como a humanidade tratou as exigências das mulheres no campo despótico e no campo democrático. Para já, o ponto essencial é que, nos países onde vigora a autogovernação, esta coerção dos criminosos é uma coerção colectiva. A pessoa anormal é teoricamente agredida por um milhão de punhos e esmagada por um milhão de pés. Quando um homem é açoitado, é açoitado por todos nós; quando um homem é enforcado, é enforcado por todos nós. E esse é o único significado possível da democracia, o único que pode conferir sentido às duas primeiras sílabas da palavra, mas também às duas últimas. Assim sendo, cada cidadão tem a responsabilidade suprema do revoltoso. As leis são declarações de guerra, que têm de ser apoiadas com armas. Os tribunais são revolucionários. Numa república, os castigos exibem a sacralidade e a solenidade dos linchamentos.
IX
A SINCERIDADE E O CADAFALSO
Deste modo, quando se diz que a tradição que se opõe ao sufrágio das mulheres as impede de se empenharem numa actividade profissional e social, talvez fosse bom introduzir alguma sobriedade e rigor na questão, e perguntar de que é que a referida tradição realmente as impede. Impede-as indubitavelmente de participar em actos colectivos de coerção; em actos de punição colectiva. Com efeito, a tradição diz que, se vinte homens enforcam um homem numa árvore ou num candeeiro público, serão vinte homens a fazê-lo, e não vinte mulheres. Ora, não me parece que haja alguma sufragista racional que esteja disposta a negar que a exclusão desta função – chamemos-lhe assim – é, não apenas um veto, mas uma protecção. Nenhuma pessoa de bom senso deixará de reconhecer que a ideia de haver um ministro da justiça, mas não uma ministro da justiça, está pelo menos relacionada com a ideia de haver no país um verdugo, mas não uma verdugo. Nem será adequado responder (como tantas vezes se responde a esta tese) que, na civilização moderna, as mulheres não teriam nunca de capturar, condenar e matar, porque todas estas actividades são realizadas de forma indirecta, por especialistas que nos matam os criminosos como nos matam o gado. Insistir nesta tese não é insistir na realidade, mas na irrealidade do direito de voto. A democracia foi pensada como uma forma directa, e não como uma forma indirecta de governação; e, se não temos todos a sensação de ser carcereiros, tanto pior para nós, e para os prisioneiros. Se prender um ladrão ou um tirano é uma actividade pouco feminina, o facto de a mulher não ter a sensação de que está a fazer o que efectivamente está a fazer – esse facto não deve contribuir para atenuar a situação. Já basta que os homens, que antigamente se juntavam na rua, agora só tenham a possibilidade de se juntar por escrito; já basta que os homens tenham transformado o direito de voto numa muito razoável ficção. É muito pior que venha toda uma classe reclamar o direito de voto porque este é uma ficção, quando o referido direito repugnaria a tal classe se fosse um facto. Se o direito a voto das mulheres não implica que se constituam turbas de mulheres, então não implica o que devia implicar. Não é preciso ser homem para colocar uma cruz num bocado de papel – qualquer mulher o pode fazer; como qualquer criança o pode fazer; ou até um chimpanzé, se for ensinado. Mas o voto não deve ser visto como o simples acto de pôr uma cruz num papel; deve ser visto como aquilo que é: brandir a flor-de-lis, lançar a seta, assinar a pena de morte. Quer as mulheres, quer os homens, deviam atentar melhor nas coisas que fazem ou a que dão origem; encará-las de frente ou nem pegar nelas.
No desastroso dia em que se aboliram as execuções públicas, renovaram-se e ratificaram-se, talvez para sempre, as execuções privadas. As coisas que se opõem drasticamente ao sentimento moral de uma sociedade não se podem fazer à luz do dia; mas não vejo razão para não continuarmos a assar os hereges dentro duma sala. Se houvesse execuções públicas, é muito provável (para falarmos ao estilo a que se chama erradamente irlandês) que deixasse de haver execuções. As antigas punições ao ar livre – o pelourinho e a forca – pelo menos atribuíam a responsabilidade à lei; e, na prática, davam à multidão a possibilidade de lançar rosas ou ovos podres ao condenado; de gritar «Hossana» ou «Crucifica-o». Mas não me agrada que o executor público se transforme num executor privado. O acto transforma-se numa coisa retorcida, oriental e sinistra, a cheirar a harém e a divã, em vez de cheirar ao fórum e à praça pública. Nos tempos modernos, o funcionário perdeu a honra e a dignidade social do carrasco, e transformou-se no portador da corda do arco.
Note-se que a única razão pela qual sugiro a brutal publicidade é para salientar que é desta brutal publicidade que as mulheres foram excluídas. E também pretendo salientar que a mera ocultação moderna da brutalidade em nada altera a situação, a não ser que afirmemos abertamente que não concedemos o sufrágio por ele conferir poder, mas por não conferir, ou seja, que as mulheres não vão passar a votar, mas a fingir que votam. Presumo que sufragista alguma assumirá esta posição; e haverá mesmo algumas sufragistas que negarão por completo que esta necessidade humana das penas e dos castigos seja uma coisa feia e humilhante, e que foi vedada às mulheres por boas e más razões. Fiz notar mais do que uma vez nestas páginas que as limitações humanas tanto podem ser os limites de um templo como de uma prisão, e que podem ser impedimentos de um sacerdote e não de um pária. Fi-lo notar, julgo eu, não caso da pontifícia indumentária feminina. Da mesma maneira, não é evidentemente irracional que os homens decidam que as mulheres, tal como os sacerdotes, devem ser impedidas de derramar sangue.
X
A ANARQUIA SUPERIOR
Mas há ainda outro facto, que ficou esquecido porque nós, os modernos, nos esquecemos de que existe um ponto de vista feminino. A sabedoria feminina representa em parte, não só uma saudável hesitação acerca da aplicação de castigos, mas também uma saudável hesitação acerca do carácter absoluto das regras. Havia uma componente feminina e de verdade perversa na frase de Wilde segundo a qual as pessoas não deviam ser tratadas como regras, mas como excepções. Feita por um homem, esta observação era ligeiramente efeminada; porque faltava a Wilde a força masculina do dogma e da cooperação democrática. Mas, se tivesse sido uma mulher a dizê-lo, seria uma simples verdade; porque é um facto que as mulheres tratam cada pessoa como uma pessoa peculiar. Por outras palavras, as mulheres são defensoras da anarquia, que é uma filosofia muito antiga e defensável; não se trata da anarquia no sentido de não se ter costumes de vida (pois isso é inconcebível), mas da anarquia no sentido de não se ter regras de espírito. É à mulher que se devem, quase de certeza, as tradições funcionais que não se encontram nos livros, em especial as que dizem respeito à educação; foi ela que se lembrou de dar presentes às crianças quando se portavam bem e de as pôr num canto quando se portavam mal. Este conhecimento inclassificável tanto pode ser chamado pragmatismo aplicado, como inteligência maternal; e esta última expressão sugere a verdade completa da mesma, porque ninguém se lembraria de lhe chamar inteligência paternal.
Ora, a anarquia só é tacto quando não resulta. E o tacto só é anarquia quando resulta. Temos de ter consciência de que, em metade do mundo – ou seja, dentro de casa –, ele resulta. Nós, os modernos, estamos sempre a esquecer-nos de que não é óbvio que se devam ter regras claras e penalizações duras; que há muitas vantagens no desgoverno benévolo do autocrata, especialmente em pequena escala; em suma, que a governação é apenas um lado da vida. A outra metade chama-se sociedade, e nela as mulheres são reconhecidamente dominantes. E sempre estiveram dispostas a defender que o reino delas é mais bem governado que o nosso, porque não é governado (no sentido lógico e legal). «Quando surge uma dificuldade a sério», dizem elas, «quando um rapaz é pretensioso ou uma tia é sovina, quando uma rapariga tonta se quer casar com alguém ou um homem perverso não se quer casar com alguém, a vossa lei romana, e a vossa constituição britânica, por muito grandiosas que sejam, são inoperantes. É muito mais provável que o nariz levantado de uma duquesa e o insulto de uma peixeira consigam corrigir a situação.» Pelo menos foi assim que soaram os desafios das mulheres ao longo dos tempos, até à recente capitulação feminina. Era assim que irradiava o estandarte vermelho da anarquia superior até a sra. Pankhurst ter içado a bandeira branca.
Convém recordar que, pelo facto de acreditar no balanço do pêndulo, o mundo moderno impôs uma traição profunda ao intelecto eterno. Um homem tem de morrer antes de balançar. A liberdade medieval da alma em busca da verdade foi substituída pela ideia de alternância fatalista. Os pensadores modernos são todos reaccionários; porque as suas ideias são sempre uma reacção ao que veio antes deles. Um homem moderno nunca vai para lado nenhum, vem sempre de algum sítio. Assim, a humanidade sempre percebeu, em quase todos os locais e todos os períodos da história, que tem corpo e alma com a mesma nitidez com que percebeu que o sol e a lua estão no céu. Mas, devido ao facto de uma seita protestante – os materialistas – ter declarado, durante um certo tempo, que a alma não existia, há hoje outra seita protestante – a cientologia – que declara que o corpo não existe. Da mesma maneira, a quase suspensão da actividade governativa por parte da insensata Escola de Manchester não produziu uma sensata atenção à actividade governativa, mas uma insensata desatenção a tudo o resto. De tal maneira que, ouvindo as pessoas a falar, se fica hoje com a impressão de que todas as funções humanas de relevo devem ser promovidas ou punidas pela lei; de que a educação deve ser toda confiada ao Estado, e o emprego deve ser todo do Estado; e de que tudo e todos devem ser conduzidos à base do augusto e pré-histórico cadafalso. Pelo contrário, uma análise mais liberal e mais cordial da humanidade não deixará de nos convencer de que a cruz é ainda mais antiga que o cadafalso; de que o sofrimento voluntário antecedeu o sofrimento imposto, e é independente dele; e, em suma, de que nas questões importantes o homem sempre teve a liberdade de dar cabo de si, se assim quisesse. A gigantesca e fundamental função que é o eixo de toda a antropologia – a função do sexo e da reprodução – nunca esteve nas mãos do Estado político; pelo contrário, sempre foi independente delas. O Estado ocupava-se da trivial questão de matar pessoas, mas tinha a sensatez de não se meter na questão dos nascimentos. Um eugenista poderá observar plausivelmente que o governo é uma pessoa distraída e inconsistente, que se dedica a cuidar da velhice das pessoas que nunca foram crianças. Não tratarei aqui com pormenor do facto de alguns eugenistas do nosso tempo terem afirmado que a polícia devia controlar os casamentos e os nascimentos como controla o trabalho e a morte – uma afirmação aliás perfeitamente maníaca. À excepção deste pequeno grupo de gente inumana (com o qual terei, infelizmente, de tratar mais adiante), os eugenistas que conheço dividem-se em duas secções: gente esperta que já foi desta opinião, e gente um tanto confusa que jura que nunca foi desta opinião – nem de qualquer outra. Se porém concedermos (fazendo uma avaliação mais positiva das pessoas) que a maioria dos eugenistas não deseja que o casamento seja controlado pelo governo, não se segue daqui que os mesmos eugenistas não desejem que o casamento não seja controlado. Com efeito, se o homem não controla o mercado matrimonial por intermédio da lei, quem controla esse mercado? A resposta deverá ser que o homem não controla o mercado matrimonial por intermédio da lei, mas a mulher o controla por meio da compaixão e do preconceito. Até há pouco tempo, havia uma lei que proibia os homens de se casarem com a irmã da mulher, quando esta morria; mas estes casamentos eram frequentes. Não havia lei nenhuma que impedisse um homem de se casar com a criada da mulher, quando esta morria; mas estes casamentos eram bastante mais raros. E eram bastante mais raros porque o mercado matrimonial é gerido com o espírito e a autonomia das mulheres; e, de uma maneira geral, as mulheres são conservadoras no que diz respeito às classes sociais. O mesmo se aplica àquele sistema de exclusividade pelo qual as senhoras conseguem muitas vezes (como que por um processo de eliminação) evitar casamentos que não queriam fazer e até às vezes promover os que queriam. Não há necessidade nenhuma da seta e da flor-de-lis, da corrente do carcereiro ou da corda do carrasco. Quando se pode silenciar um homem, não é necessário estrangulá-lo. Marcar uma pessoa a ferrete acaba por ser menos eficaz do que virar-lhe as costas; e ninguém se incomoda a prender um homem dentro de uma casa quando pode proibir-lhe a entrada noutra.
O mesmo se aplica, naturalmente, à colossal arquitectura a que chamamos educação infantil, uma arquitectura que é produzida em exclusivo pelas mulheres. Nada pode contrabalançar a enorme superioridade sexual que resulta do facto de até os rapazes nascerem mais perto da mãe que do pai. Reflectindo nesse assustador privilégio feminino, ninguém consegue realmente acreditar na igualdade entre os sexos. De vez em quando, ouvimos falar de uma pequena que era maria-rapaz; a verdade é que todos os rapazes são raparigas domesticadas. Pois todos eles vivem desde o princípio rodeados pela carne e pelo espírito da feminilidade, que são como que as quatro paredes de uma casa; e nem o mais vago ou mais brutal dos homens poderá deixar de ter sido feminilizado pelo facto de ter nascido. Para o homem nascido de mulher, os dias são curtos e cheios de tristeza; mas ninguém imagina a obscenidade e a tragédia bestial que seriam os monstruosos dias de um homem nascido de um homem.
XI
A RAINHA E AS SUFRAGISTAS
Mas tenho mesmo de deixar o debate sobre esta questão da educação para mais adiante. A quarta secção desta discussão devia ser sobre o filho, mas tenho a impressão de que vai ser essencialmente sobre a mãe. Nesta parte, insisti sistematicamente na enorme parcela da vida que é governada, não pelo homem com os seus votos, mas pela mulher com a sua voz – ou, na maioria das vezes, o seu horrível silêncio. Só falta acrescentar uma coisa. No estilo explanatório e algo descontrolado deste texto, ficou delineada a ideia de que os governos são, em última análise, instrumentos de coacção, de que a coacção pressupõe definições rigorosas, bem como frias consequências, e de que portanto o velho hábito de impedir a metade da humanidade o acesso a actividade tão cruel e suja não é de todo despiciendo. Mas não é só isso.
Votar não é apenas uma coacção, é uma coacção colectiva. Tenho para mim que a rainha Vitória teria sido ainda mais popular e apreciada se nunca tivesse assinado uma pena de morte. Tenho para mim que a rainha Isabel teria ficado com uma imagem histórica mais sólida e mais esplêndida se não tivesse conquistado (entre aqueles que conhecem a sua história) a alcunha de Bloody Bess44. Parece-me, em suma, que as grandes mulheres da história são mais elas próprias quando são persuasivas do que quando são coercivas. Mas sinto o apoio da humanidade em peso quando afirmo que, se uma mulher tem este poder, ele deve ser um poder despótico, e não um poder democrático. É muito mais razoável, com base na história, dar um trono à sra. Pankhurst do que dar-lhe o direito de voto. Ficava-lhe bem uma coroa, ou pelo menos uma grinalda, como as que usam muitas das suas apoiantes; porque estes poderes de antanho são puramente pessoais, e portanto femininos. Enquanto déspota, a sra. Pankhurst podia ser tão virtuosa como a rainha Vitória, e teria grande dificuldade em ser tão perversa como a rainha Bess; mas a questão é que, boa ou má, seria irresponsável, ou seja, não seria governada por regras nem por chefes. Há só duas maneiras de governar: ou por meio de regras, ou por meio de chefes. E é perfeitamente correcto dizer acerca de uma mulher que, no domínio da educação e da domesticidade, ela tem necessidade de exercer a liberdade do autocrata. A mulher nunca é responsável, a não ser quando é irresponsável. E, caso isto pareça uma contradição ociosa, apelo com confiança aos frios factos da história. Quase todos os Estados despóticos ou oligárquicos admitiram as mulheres aos privilégios que concediam; mas foram muito poucos os Estados democráticos que as admitiram aos direitos que concediam. E a razão é muito simples: a violência da multidão constitui um sério risco para a feminilidade. Em suma, uma Pankhurst é uma excepção; mas um milhar de Pankhursts são um pesadelo, uma orgia báquica, um sabath de bruxas. Em todas as lendas, os homens acham que as mulheres são sublimes quando estão sozinhas e horríveis quando aparecem em manada.
XII
AS ESCRAVAS MODERNAS
Note-se que só peguei no caso do sufrágio das mulheres porque se trata de um assunto tópico e concreto; como proposta política, não tem grande interesse para mim. Não tenho dificuldade em imaginar que haja quem concorde com a minha tese de que a mulher é universalista e autocrata numa área precisa, mas continue a achar que não lhe ficava mal um boletim de voto. A verdadeira questão consiste em saber se se admite o velho ideal de que a mulher é a grande amadora. E este ideal é bastante mais ameaçado por múltiplas coisas modernas do que pelo sufragismo feminino; nomeadamente pelo aumento do número de mulheres que vivem à própria custa, chegando para isso a trabalhar em actividades extremamente duras ou terrivelmente sórdidas. Se a ideia de um governo constituído por uma horda de mulheres selváticas é antinatural, a ideia da submissão de uma manada de mulheres submissas é verdadeiramente intolerável. E há elementos da psicologia humana que tornam esta situação particularmente pungente e ignominiosa. A feia precisão dos negócios, os sinos e os relógios, as horas fixas e os departamentos rigorosos – tudo isso foi feito para os homens; que, de uma maneira geral, só conseguem fazer uma coisa, e só com grande dificuldade são induzidos a fazê-la. Quando os funcionários não tentam escapar ao trabalho, o nosso grandioso sistema comercial entra em colapso. E está a entrar em colapso com a invasão das mulheres, que estão a adoptar a via – uma via impossível e sem precedentes – de levar o sistema a sério e o fazer com competência. Mas essa mesma eficácia é uma definição da escravidão a que se submetem. De uma maneira geral, é muito mau sinal uma pessoa ser da total confiança dos seus empregadores. E, se os funcionários esquivos têm ar de canalhas, as senhoras empenhadas têm ar de traidoras. Mas a questão mais imediata é que a moderna empregada carrega um duplo fardo, porque suporta, quer o esmagador oficialismo do seu novo cargo, quer a incómoda meticulosidade da sua casa de sempre. Poucos homens compreendem o que significa ser consciencioso. Compreendem o que é o dever, que geralmente significa um dever; mas ser consciencioso é assumir o dever do universalista. É não estar limitado por dias de trabalho e dias de folga; é uma compostura devoradora, sem leis nem limites. Para submetermos as mulheres às monótonas regras do trabalho, temos de arranjar maneira de as emancipar das desordenadas regras da consciência. Mas parece-me que seria mais fácil ficar com a consciência e abandonar o trabalho. Como as coisas estão, a funcionária e a secretária modernas estafam-se a corrigir uma coisa no orçamento, e depois vão para casa corrigir tudo o resto.
Esta situação (a que alguns chamam emancipação) é pelo menos o inverso do meu ideal. Por mim, não daria à mulher mais direitos, mas mais privilégios. Em vez de a mandar à procura da liberdade que está manifestamente presente nos bancos e nas fábricas, construía uma casa especial, onde ela pudesse ser livre. E chegamos assim ao último ponto a ter em consideração; o ponto em que percebemos que, tal como os direitos do homem, as necessidades da mulher foram retidas e falsificadas por algo que este livro pretende denunciar.
O feminista (que é, segundo creio, uma pessoa que não aprecia as principais características femininas) tem estado a ouvir este meu vago monólogo, constantemente ansioso por protestar. E neste ponto, explode e pergunta: «Mas qual é a solução? De um lado, temos as repartições modernas com os seus funcionários; do outro, temos a família moderna com as suas filhas por casar; em toda a parte tem de haver especialização; há oferta e procura de mulheres frugais e conscienciosas. Que importância tem que preferíssemos, em abstracto, a antiga mulher, humana e dona de casa; até podíamos preferir o Jardim do Éden. Mas, se as mulheres têm profissões, têm de ter sindicatos. Se as mulheres trabalham em fábricas, têm de votar nas leis que as gerem. Se as mulheres não se casam, têm de trabalhar; e, se trabalham, têm de ter actividade política. Temos de criar novas regras para este novo mundo – mesmo que não seja um mundo melhor.» Certa vez, disse a um feminista: «A questão não consiste em saber se as mulheres têm qualidade suficiente para terem direito de voto; a questão está em saber se os votos têm qualidade suficiente para serem dados às mulheres.» Ele limitou-se a responder: «Ah, vá dizer isso às operárias metalúrgicas de Cradley Heath.»
Ora, é precisamente esta atitude que eu ponho em causa: a gigantesca heresia do precedente. Refiro-me ao ponto de vista segundo o qual, se fizemos um disparate, depois temos de fazer outro ainda maior; se nos enganámos no caminho, depois temos de seguir em frente em vez de voltarmos para trás; se nos perdemos, também temos de perder o mapa do caminho; e, se não estivemos à altura do nosso ideal, temos de o esquecer. Há imensa gente excelente que não acha que o direito de voto seja uma coisa pouco feminina; e poderá haver entusiastas da nossa bela indústria moderna que não considerem que as fábricas são pouco femininas. Mas, se estas coisas são pouco femininas, não é solução dizer que estão bem uma para a outra. Não me contento com a afirmação de que a minha filha tem de ter qualidades pouco femininas pelo facto de ter defeitos pouco femininos. A fuligem industrial e a tinta dos impressores são duas coisas pretas, cuja soma não gera uma coisa branca. A maioria das feministas concordaria comigo, quando afirmo que a feminilidade está sujeita a uma tirania vergonhosa nas lojas e nas fábricas. Mas eu quero destruir a tirania. E elas querem destruir a feminilidade. Essa é a única diferença.
Se podemos ou não recuperar a visão clara da mulher como torre de muitas janelas, como eterno e permanente feminino de onde partem os filhos, que são os especialistas; se podemos ou não preservar a tradição de uma coisa central que é ainda mais humana que a democracia e ainda mais prática que a política; numa palavra, se será ou não possível restabelecer a família, liberta do repugnante cinismo e da crueldade desta época comercial – tudo isso discutirei na última secção deste livro. Entretanto, não me falem das pobres operárias metalúrgicas de Cradley Heath. Conheço-as perfeitamente e sei o que andam a fazer. Essas mulheres contribuem para uma indústria muito difundida e florescente do nosso tempo: fazem correntes.
IV PARTE
A EDUCAÇÃO OU O ERRO ACERCA DAS CRIANÇAS
I
O CALVINISMO DO NOSSO TEMPO
Quando escrevi um livrinho sobre o meu amigo Bernard Shaw, naturalmente que o próprio escreveu uma recensão sobre ele. E naturalmente que eu me senti tentado a responder, e a criticar o livro do mesmo ponto de vista desinteressado e imparcial do qual o Sr. Shaw tinha criticado o tema do mesmo. Não foi a impressão de que a piada se estava a tornar um tanto óbvia que me conteve; porque uma piada óbvia é uma piada com graça; os palhaços que não conseguem fazer rir é que se consolam com a ideia de que as suas piadas são subtis. A verdadeira razão pela qual não respondi ao divertido ataque do Sr. Shaw foi a seguinte: há nele uma simples frase em que o meu amigo me ofereceeu tudo aquilo que eu sempre quis, ou poderia querer dele para toda a eternidade. Eu disse ao Sr. Shaw (em substância) que ele era um cavalheiro simpático e inteligente, mas que era também um simples calvinista. Ele reconheceu que assim era e (no que me diz respeito) aí termina a discussão. Diz ele que Calvino tem evidentemente toda a razão em afirmar que «a partir do momento em que um homem nasce, é tarde demais para o condenar ou o salvar». E esse é o fundamental segredo subterrâneo; essa é a última mentira do inferno.
A diferença entre o puritanismo e o calvinismo não tem a ver com a possibilidade de determinada palavra ou gesto sacerdotal serem significativos e sagrados. Tem a ver com a possibilidade de haver palavras e gestos que são significativos e sagrados. Para os católicos, todos os actos do dia-a-dia são uma consagração dramática ao serviço do bem ou do mal. Para os calvinistas, acto algum pode ter esse género de solenidade, porque a pessoa que os faz foi consagrada desde toda a eternidade, e limita-se a fazer tempo até chegar o juízo final. A diferença é mais subtil do que os pudins de ameixa e as peças ao serão; a diferença reside no facto de, para um cristão do meu género, a curta vida que temos neste mundo ser intensamente apaixonante e preciosa, enquanto para um calvinista como o Sr. Shaw, tal vida é reconhecidamente automática e desinteressante. Para mim, estes setenta anos são um campo de batalha. Para os calvinistas são apenas (eles próprios o admitem) uma longa procissão de vencedores coroados de louros e de vencidos acorrentados. Para mim, a vida neste mundo é um drama; para eles, é um epílogo. Os discípulos de Shaw pensam acerca do embrião; os espiritualistas pensam acerca dos espíritos; os cristãos pensam acerca do homem. E não faz mal nenhum esclarecer estas três coisas.
Ora bem, a nossa sociologia, o nosso eugenismo e as restantes tendências do nosso tempo não são propriamente materialistas, são confusamente calvinistas; o que principalmente as preocupa é a educação da criança antes de nascer. Este movimento está todo ele cheio de uma singular depressão relativamente ao que se pode fazer ao vulgo, combinada com uma estranha e desencarnada boa disposição acerca do que se pode fazer à posteridade. Com efeito, estes calvinistas essenciais aboliram algumas das partes mais liberais e universais do calvinismo, como a crença num projecto intelectual e na felicidade eterna. Mas, embora o Sr. Shaw e os amigos considerem que o julgamento do homem após a morte é uma superstição, a verdade é que não abandonaram a sua doutrina principal: que o homem é julgado antes de nascer.
Em consequência deste ambiente de calvinismo que vigora no mundo culto do nosso tempo, torna-se aparentemente necessário dar início a qualquer discussão sobre educação com uma referência à obstetrícia e ao mundo desconhecido do pré-natal. Contudo, aquilo que eu tenho a dizer sobre a hereditariedade é muito resumido, porque me limitarei a referir aquilo que já se sabe sobre o assunto, que é praticamente nada. Não é de maneira nenhuma evidente – mas nem por isso deixa de ser um dogma do nosso tempo – que nada entra efectivamente no corpo aquando do nascimento, excepto uma vida que deriva da dos pais e que é composta a partir dela. A teoria cristã de que um elemento do novo ser provém de Deus tem pelo menos tanto que se lhe diga como a teoria budista de que esse elemento provém de existências anteriores. Mas este livro não é de natureza religiosa, e eu tenho de me submeter aos estreitos limites intelectuais que a ausência de teologia sempre impõe. Deixando a alma de lado, suponhamos, para facilitar a discussão, que no primeiro caso o carácter humano provém inteiramente dos pais; e declaremos sem mais delongas, não a nossa ignorância, mas o nosso conhecimento.
II
O TERROR TRIBAL
A ciência corrente, tal como a ciência do Sr. Blatchford45, é nesta matéria tão moderada como as lendas das avós. O Sr. Blatchford explicava com colossal simplicidade a milhões de funcionários e trabalhadores que a mãe é um frasco de contas azuis, o pai um frasco de contas amarelas, e o filho um frasco de contas azuis e amarelas, todas misturadas. É o mesmo que dizer que, se o pai tem duas pernas, e a mãe tem outras duas, o filho terá quatro pernas. Não se trata aqui, evidentemente, de uma simples questão de somas e divisões de uma série de «qualidades» independentes, como se fossem contas. Estamos a falar de uma crise e transformação orgânica do mais misterioso que há; de tal maneira que, ainda que seja inevitável, o resultado é sempre inesperado. Não são as contas azuis que se misturam com as amarelas; é o azul que se mistura com o amarelo, e o resultado é o verde, que é uma experiência totalmente nova e singular, uma nova emoção. Um homem pode viver num cosmo fechado de azul e amarelo; um homem pode nunca ter visto mais nada para além de um campo dourado de milho e um céu de safira; e, apesar disso, pode nunca ter tido uma fantasia tão radical como o verde. Se a pessoa trocar uma moeda de chocolate por uma fita azul; se derramar um frasco de mostarda sobre um guardanapo azul; se casar um canário amarelo com um babuíno azul – nenhuma destas combinações absurdas contém um vestígio que seja de verde. O verde não é uma combinação mental, como as somas; é um resultado físico, como o nascimento. Assim, para além do facto de que nunca ninguém compreende realmente os pais nem os filhos, mesmo que fôssemos capazes de compreender os pais, seríamos incapazes de fazer qualquer conjectura acerca dos filhos. Porque a força actua sempre de maneira diferente; e as cores constitutivas resultam sempre num espectáculo diferente. Uma jovem pode herdar a sua fealdade da beleza da mãe. Um rapaz pode herdar a sua fraqueza da força do pai. Mesmo que reconheçamos que se trata de um facto, para nós continuará a ser sempre um conto de fadas. Considerados na sua relação com as respectivas causas, os calvinistas e os materialistas podem ter ou não ter razão; deixamo-los entregues ao desolador debate que os ocupa. Mas considerados na sua relação com os respectivos resultados, não há dúvida nenhuma: a coisa é sempre de uma cor nova; é sempre uma estrela desconhecida. Todos os nascimentos têm a singularidade dos milagres. Todas as crianças causam a surpresa dos monstros.
E sobre estes assuntos não há ciência, mas apenas uma espécie de ignorância fervorosa; e nunca ninguém conseguiu apresentar uma teoria da hereditariedade moral que fosse justificada no único sentido científico deste termo – isto é, que permitisse calculá-la antecipadamente. Há, digamos, seis casos em que um neto tem o mesmo tique de boca ou o mesmo vício de carácter que o avô; ou dezasseis casos, ou mesmo sessenta. Mas não há dois casos, não há um único caso, não há caso nenhum de alguém que tenha apostado um tostão furado que o avô teria um neto com aquele tique ou aquele vício. Em suma, nós temos com a hereditariedade a mesma relação que temos com os presságios, as afinidades e a realização dos sonhos. As coisas acontecem, e quando acontecem registamo-las; mas nem um lunático se lembra de contar com elas. Na realidade, a hereditariedade é, tal como os sonhos e os presságios, uma ideia bárbara; que o mesmo é dizer que não é necessariamente falsa, mas que é uma ideia vaga, imprecisa e não sistematizada. Um homem civilizado sente-se um pouco mais liberto da família. Antes do advento do cristianismo, as histórias do destino das tribos ocupavam o norte selvagem; depois da Reforma e da revolta contra o cristianismo (que é a religião da liberdade civilizada), a selvajaria está a regressar lentamente, sob a forma dos romances realistas e das «peças de problema». A maldição dos Rougon-Macquart46 é tão pagã e supersticiosa como a maldição de Ravenswood47; a única diferença é que não está tão bem escrita. Mas, neste sentido bárbaro do crepúsculo, a sensação de destino racial não é irracional, e pode ser permitida, como o são centenas de emoções que completam a vida. O único aspecto essencial da tragédia é não a levarmos a sério. Mas, mesmo quando o dilúvio bárbaro atingiu o seu auge nos desvairados romances de Zola (nomeadamente em A besta humana, que é um libelo grosseiro, quer contra os animais, quer contra os homens), mesmo então a aplicação da ideia de hereditariedade à prática é reconhecidamente tímida e desajeitada. Os estudiosos da hereditariedade são selvagens, no sentido vital em que olham espantados para uma série de maravilhas, mas não se atrevem a propor uma série de esquemas. Na prática, não ocorre a ninguém a louca ideia de legislar ou de educar com base nos dogmas da hereditariedade física; e a linguagem da coisa raramente é usada, excepto com especiais propósitos modernos, como o financiamento da investigação e a opressão dos pobres.
III
OS PROBLEMAS DO MEIO
Assim, e a despeito do moderno palavreado do calvinismo, só ousamos reflectir acerca da criança acabada de nascer; e o que está em causa não é a eugenia, mas a educação. Ou melhor, e recorrendo à terminologia algo estafada da divulgação científica, o problema não é a hereditariedade, é o meio. Não complicarei inutilmente a questão salientando demoradamente que o meio também se encontra sujeito a algumas das objecções e hesitações que paralisam a utilização da hereditariedade. Limitar-me-ei a sugerir de passagem que os modernos também falam com demasiada ligeireza e excesso de simplicidade acerca dos efeitos do meio. A ideia de que o ambiente molda o homem aparece sempre combinada com uma ideia completamente diferente: a de que o ambiente molda o homem de uma forma específica. Pensando num caso mais abrangente, não há dúvida de que a paisagem afecta a alma; mas é muito diferente afirmar que a afecta desta ou daquela maneira. Uma pessoa que nasça entre pinheiros poderá amar os pinheiros; ou poderá detestar os pinheiros; ou poderá nunca ter realmente visto um pinheiro. Ou poderá ser uma combinação destas três alternativas, em proporções variadas. De maneira que, neste caso, o método científico sofre de uma certa imprecisão. Não estou a falar de cor; pelo contrário, falo de manual em punho, de guia e de atlas na frente. É bem possível que os habitantes das terras altas sejam poetas porque vivem nas montanhas; mas nesse caso os suíços são prosaicos porque vivem nas montanhas? É bem possível que os suíços tenham lutado pela liberdade porque têm um país de colinas; e os holandeses, lutaram pela liberdade porque o não têm? Pessoalmente, parece-me bastante provável. O ambiente tanto pode ter um efeito positivo como negativo. É possível que os suíços sejam um povo sensato, não apesar de viverem sob um horizonte agreste, mas porque vivem sob um horizonte agreste. E que os flamengos sejam excelentes artistas, não apesar de viverem sob um horizonte plano e monótono, mas precisamente por isso.
Faço uma pausa neste parêntesis para mostrar que, mesmo em matérias reconhecidamente ao seu alcance, a ciência anda muitas vezes depressa demais, deixando cair grandes elos lógicos. Apesar disso, continua a ser um facto que o que nos ocupa no caso das crianças é, para todos os efeitos, o meio; ou, se quisermos recorrer ao termo clássico, a educação. Feitas todas estas deduções, a educação é pelo menos uma forma de culto da vontade, e não de cobarde culto dos factos; a educação trata de um departamento que não somos capazes de controlar; não se limita a contagiar-nos com o bárbaro pessimismo de Zola e a caça à hereditariedade. Vamos indubitavelmente fazer figura de tolos; é isso que se entende por filosofia. Mas não nos limitaremos a fazer figura de animais, que é a mais correcta descrição corrente daqueles que se limitam a seguir as leis da Natureza e a encolher-se sob a vingança da carne. A educação contém muitos disparates; mas não são aqueles disparates que fazem dos cretinos e dos idiotas escravos de um íman prateado, do olho do mundo. Nesta arena de decência, há fantasias, mas não há frenesins. E havemos certamente de deparar com grandes mistificações; mas nem sempre serão de pesadelo.
IV
A VERDADE ACERCA DA
EDUCAÇÃO
Quando se pede a um homem que escreva o que realmente pensa sobre a educação, apodera-se dele uma certa gravidade que lhe entorpece a alma, uma gravidade que o interlocutor superficial poderá confundir com aversão. Se é realmente verdade que os homens se cansam das palavras sagradas e se fartam da teologia, e se esta irritação em grande medida irracional contra o «dogma» resultou efectivamente de algum excesso ridículo de tais coisas por parte dos sacerdotes do passado, então parece-me que estamos a colocar fundamentos bastante sólidos para os nossos descendentes se virem a cansar. É muito provável que, um dia, a palavra «educação» pareça honestamente tão antiquada e desprovida de conteúdo como a palavra «justificação» nos parece actualmente quando a lemos num documento puritano. Gibbon achava imensa piada ao facto de os povos terem combatido por causa das diferenças entre «homoousion» e «homoiousion». Virá o tempo em que as pessoas se rirão ainda mais ao pensar que houve quem tenha bradado contra a educação sectária e a educação secular; que houve homens de posição e proeminência que protestaram contra as escolas por elas ensinarem um credo, e outros por não transmitirem uma fé. As duas palavras gregas a que Gibbon faz referência parecem ser idênticas; mas na realidade significam duas coisas muito distintas. A fé e o credo parecem ser coisas distintas, mas na realidade significam exactamente o mesmo. Credo significa fé em latim.
Ora, tendo lido um número interminável de artigos de jornal sobre educação, tendo mesmo escrito muitos deles, e tendo ouvido, praticamente desde que nasci, discussões ensurdecedoras e intermináveis sobre temas como: a religião faz parte da educação, a higiene é uma componente essencial da educação, o militarismo é inconsistente com a educação, ponderei muito sobre este substantivo recorrente, e envergonho-me de dizer que levei bastante tempo a compreender o principal facto deste domínio.
O principal facto do domínio da educação é, naturalmente, que tal coisa não existe. Não existe como existem a teologia e o exército. A teologia é uma palavra como a geologia, e o exército uma palavra como o exercício; são ciências que podem ser saudáveis ou não, enquanto passatempos; mas que tratam de pedras e fardas, de coisas precisas. Mas a educação não é uma palavra como a geologia e as fardas. A educação é uma palavra como «transmissão» e «herança»; não é um objecto, é um método. A educação tem de significar a transmissão de certos factos, pontos de vista e qualidades ao último recém-nascido. Poderão ser factos completamente triviais, pontos de vista escandalosos e qualidades ofensivas; mas, se são transmitidos de uma geração a outra, são educação. A educação não é uma coisa como a teologia; não quer dizer que seja inferior ou superior, mas que não pertence à mesma categoria de termos. A teologia e a educação estão uma para a outra como uma carta de amor para os correios. O Sr. Fagin48 foi tão educativo como o Dr. Strong49. A educação é dar alguma coisa – nem que seja veneno. A educação é tradição, e a tradição pode ser (como o nome indica) uma traição.
Esta primeira verdade é francamente banal; mas é tão consistentemente ignorada pela nossa prosa política, que tem de ser claramente expressa. Um rapazinho, filho de um comerciante, aprende a tomar o pequeno-almoço, a tomar os remédios, a amar a pátria, a rezar, e a vestir-se melhor ao domingo. Naturalmente que, se conhecesse este rapazinho, Fagin lhe ensinaria a beber gin, a mentir, a trair a pátria, a blasfemar e a usar um bigode falso. Por sua vez, o Sr. Salt50, que é vegetariano, abolia-lhe o pequeno-almoço; a Sra. Eddy51 deitava-lhe fora os remédios; o conde Tolstoi censurava-lhe o amor à pátria; o Sr. Blatchford proibia-o de rezar; e o Sr. Edward Carpenter52 protestava por ele se vestir melhor ao domingo, e talvez mesmo por ele se vestir. Não defendo nenhum destes pontos de vista progressistas, nem sequer o de Fagin. Mas não posso deixar de perguntar onde está, no meio de todos eles, essa entidade abstracta chamada educação. Não é que (como geralmente se julga) o comerciante ensine educação mais o cristianismo; o Sr. Salt ensine educação mais o vegetarianismo; Fagin ensine educação, mais o crime. A verdade é que estes professores nada têm em comum entre si, excepto o facto de todos eles ensinarem. Em suma, a única coisa que eles têm em comum é a única coisa que afirmam detestar: a ideia geral de autoridade. É estranho que as pessoas digam que querem separar os dogmas da educação. Com efeito, os dogmas são a única coisa que não se pode separar da educação. Eles são a educação. Um professor que não seja dogmático é um professor que não está a ensinar.
V
UM GRITO PERVERSO
Sugere a falácia corrente que a educação nos permite dar às pessoas algo que nós não tivemos. E ouvindo as pessoas falar, fica-se com a impressão de que se trata de uma espécie de magia química, pela qual, criando um laborioso estufado de refeições higiénicas, banhos, exercícios de respiração, ar puro e desenho à vista, somos capazes de produzir uma coisa esplêndida por acaso; que podemos criar aquilo que não somos capazes de conceber. Estas páginas não têm, já se sabe, outro objectivo genérico que não seja salientar que não podemos criar coisas boas enquanto não as tivermos concebido. Estranhamente, estas pessoas, que se mostram obstinadamente apegadas à lei em questões de hereditariedade, dão a impressão de quase acreditarem em milagres nas questões relativas ao meio. Repetem que só o que estava contido no corpo dos pais pode passar para o corpo dos filhos; mas parecem pensar que podem entrar na cabeça dos filhos coisas que não estavam na cabeça dos pais, nem em lado nenhum.
Relacionado com este assunto, veio à superfície um grito tolo e perverso, típico da confusão: «Salvem as crianças.» Trata-se, evidentemente, de um elemento daquela morbidade moderna que insiste em tratar o Estado (que é a casa do homem) como uma espécie de expediente desesperado em tempos de pânico. É também este oportunismo assustado que está na origem do socialismo e de outros esquemas. Com efeito, assim como estão dispostos a recolher e dividir os alimentos como se faz em tempos de fome, os socialistas estão também dispostos a separar os filhos dos pais como se faz num naufrágio. Dá a impressão de que não lhes passa pela cabeça que uma comunidade humana poderá não estar numa situação de fome ou de naufrágio. Este grito – «Salvem as crianças» – contém o odioso pressuposto de que é impossível salvar os pais; por outras palavras, que há milhões de europeus adultos, saudáveis, responsáveis e independentes que devem ser tratados como lixo e varridos da discussão; que são chamados dipsomaníacos porque vão beber para o pub em vez de beberem em casa; que são considerados impossíveis de empregar porque ninguém consegue arranjar-lhes trabalho; que são chamados cretinos porque aderem às convenções e indolentes porque amam a liberdade. Ora a minha primeira e principal preocupação é defender que, a não ser que consigamos salvar os pais, não conseguiremos salvar os filhos; que, actualmente, não somos capazes de salvar os outros, porque não somos capazes de nos salvar a nós. Não podemos ensinar os outros a serem cidadãos se nós próprios o não formos; não poderemos libertar os outros se nós próprios tivermos perdido o apetite da liberdade. A educação só é verdadeira num estado de transmissão; e como é que podemos transmitir a verdade se ela não nos tiver passado pelas mãos? Chegamos pois à conclusão de que a educação é o caso a que mais nitidamente podemos aplicar as nossas conclusões. Não vale a pena salvar crianças, porque elas não podem permanecer no estado de crianças. Por hipótese, estamos a ensiná-las a serem homens; e como é que pode ser assim tão simples ensinar os outros a serem homens, se nós próprios temos tanta dificuldade em aprender a sê-lo?
Estou ciente de que há uns quantos pedantes que tentaram contrariar esta dificuldade defendendo que a educação nada tem a ver com a instrução, e que não se ensina por via da autoridade. Para estas pessoas, o processo não provém do exterior, do professor, mas exclusivamente do interior da criança. Dizem eles que educar vem de um termo latino que significa orientar ou trazer à superfície as faculdades adormecidas da pessoa. Algures no fundo obscuro da alma do jovem, existe um desejo primordial de aprender os acentos gregos e de usar colarinhos limpos; e o professor limita-se a libertar, terna e suavemente, este propósito aprisionado. Os segredos intrínsecos da maneira de comer espargos e da data de Bannockburn53 estão ocultos no espírito do bebé recém-nascido. O educador limita-se a trazer à superfície o encoberto amor da criança pela divisão complexa; limita-se a orientar a preferência, até então ligeiramente velada, que a criança tem pelos pudins de leite em detrimento das tortas. Não sei bem se acredito nesta derivação; de acordo com uma sugestão infamante, o termo «educator», quando aplicado a um professor romano, não significava conduzir as funções dos jovens para a liberdade, mas levar os rapazinhos a dar um passeio. Mas do que tenho a certeza é de que não acredito nesta doutrina; parece-me tão pouco razoável afirmar que os méritos educativos provêm do bebé como afirmar que é dele que provém o leite que o faz crescer. Há efectivamente, em todos os seres vivos, um conjunto de forças e funções; mas a educação significa conferir-lhes formas específicas e treiná-las com objectivos precisos. A fala é o exemplo mais prático desta situação. A pessoa pode «extrair» guinchos e resmungos a uma criança pelo simples método de a picar e a maltratar – um passatempo agradável, embora cruel, em que muitos psicólogos são viciados. Mas é preciso aguardar com grande paciência que a língua materna lhe saia da boca. Isso tem de lhe ser posto lá dentro; e não se fala mais neste assunto.
VI
A INEVITÁVEL AUTORIDADE
Mas o ponto mais importante a reter é apenas que, seja como for, não podemos libertar-nos da autoridade na educação; e não é tanto que devamos preservar a autoridade parental (como dizem os pobres conservadores), quanto que não podemos destruí-la. O Sr. Bernard Shaw observou certa vez que a ideia de formar o espírito de uma criança lhe desagradava profundamente. Nesse caso, o Sr. Bernard Shaw faria melhor em se enforcar; porque o que tanto lhe desagrada é algo inseparável da vida humana. Se referi o educere e o desvelar das faculdades, foi apenas para salientar que nem este truque mental permite escapar à inevitável ideia da autoridade parental e escolar. O educador que traz coisas à superfície da mente é tão arbitrário e coercivo como o instrutor que introduz coisas na mente; porque ele traz à superfície o que bem entende. Ele decide quais são as faculdades da criança que devem e as que não devem ser desenvolvidas. Ele não traz à superfície (suponho eu) a esquecida faculdade de produzir documentos falsos; não desvela (pelo menos por enquanto), com passos tímidos, um talento acanhado para a tortura. O único resultado desta pomposa e rígida distinção entre o educador e o professor é que o professor mete o que lhe agrada e o educador tira o que lhe agrada. A violência intelectual que é exercida sobre criatura onde se mete e de onde se tira é exactamente a mesma. Ora bem, todos nós temos de aceitar a responsabilidade por esta violência intelectual. A educação é um processo violento; porque é um processo criativo. E é um processo criativo porque é um processo humano. A educação é tão temerária como tocar violino; tão dogmática como fazer um desenho; tão brutal como construir uma casa. Em suma, a educação é o que é toda a acção humana; é uma interferência na vida e no crescimento. Tendo isto em conta, é pouco importante saber se este terrível algoz, o artista Homem, mete as coisas dentro de nós como faz o boticário, ou as tira de dentro de nós como faz o dentista.
A questão é que o Homem faz o que entende. O Homem reclama o direito de controlar a mãe Natureza; reclama o direito de fazer do Super-homem um filho seu, à sua imagem. A partir do momento em que se vacila perante esta autoridade criativa do homem, é toda a corajosa incursão a que chamamos civilização que estremece e se desmorona em pedaços. Ora bem, grande parte da liberdade moderna tem o medo na sua raiz. Não é tanto que sejamos tão corajosos que não aguentamos ter regras; é que somos tão tímidos, que não suportamos ter responsabilidades. E o Sr. Shaw, e outros como ele, estão especialmente a fugir a essa terrível e ancestral responsabilidade que os nossos pais nos entregaram quando deram o ousado passo que consistiu em se tornarem homens. Refiro-me à responsabilidade de afirmar a verdade da nossa condição humana e de a transmitir com uma voz de inabalável autoridade. É nisso que consiste a educação eterna; em ter tanta certeza de que determinada coisa é verdade, que nos atrevemos a dizê-la a um filho. É deste dever altamente audacioso que os modernos fogem a sete pés; e a sua única desculpa é (evidentemente) que as filosofias modernas são de tal maneira superficiais e hipotéticas, que não os convencem o suficiente para eles serem capazes de convencer sequer um bebé recém-nascido. Isto está evidentemente relacionado com a decadência da democracia; e é um tema diferente. Basta dizer que, quando eu digo que devemos instruir os nossos filhos, quero dizer que devemos ser nós a fazê-lo, e não o Sr. Sully54 ou o Professor Earl Barnes. O problema de grande parte das nossas escolas modernas é que o Estado, sendo especialmente controlado por um pequeno grupo, permite que os excêntricos e as experiências passem directamente às escolas sem primeiro passarem pelo parlamento, pelos pubs, pelas casas de família, pelas igrejas e pelos mercados. O que se deve ensinar aos mais jovens são obviamente as coisas mais antigas; aos bebés começa-se por dar as verdades mais seguras e experimentadas. Mas nas escolas de hoje os bebés têm de se submeter a sistemas que são mais novos que eles. De facto, a criança de quatro anos que mal se aguenta de pé tem mais experiência do mundo do que os dogmas aos quais é submetida. Muitas escolas gabam-se de aplicar as mais recentes teorias educativas, quando a verdade é que não fazem ideia nenhuma do que estão a dizer; porque a primeira ideia a ter em conta neste domínio é que até a inocência, embora seja divina, pode aprender alguma coisa com a experiência. Mas tudo isto fica a dever-se, como observei, ao facto de sermos governados por uma pequena oligarquia; o meu sistema pressupõe que os homens que se governam a si mesmos também governem os filhos. Hoje em dia, quando falamos de Educação Popular, queremos referir a educação do povo; era preferível que estivéssemos a falar de educação pelo povo.
O ponto mais premente da actualidade é que estes educadores expansivos recorrem à violência da autoridade exactamente como faziam os velhos professores. Pode mesmo afirmar-se que recorrem mais do que eles. O velho professor da aldeia dava umas reguadas no rapaz que não tinha estudado a gramática e mandava-o para o recreio brincar ao que lhe apetecesse; ou não brincar a nada, se lhe apetecesse. O moderno professor científico vai atrás dele para o recreio e obriga-o a praticar um desporto, porque o exercício faz bem à saúde. O moderno professor é, para além de mestre, médico. Poderá afirmar que é óbvio que o exercício faz bem à saúde; mas tem de o dizer, e tem de o dizer com autoridade. Se fosse assim tão óbvio, não seria obrigatório. Contudo, em termos das modernas práticas educativas, isto é um exemplo muito suave. Porque os livres educadores das modernas práticas proíbem muito mais coisas do que os educadores antiquados. Um apreciador de paradoxos (se tão vergonhosa criatura existir) poderá defender com alguma plausibilidade que a expansão que sofremos desde o fracasso do claro paganismo de Lutero e sua substituição pelo puritanismo de Calvino não foi expansão nenhuma, mas o encerramento numa prisão, de tal maneira que são cada vez menos as coisas belas e humanas que nos são permitidas. Os puritanos destruíram as imagens; os racionalistas proíbem os contos de fadas. Numa das suas encíclicas papais, o conde Tolstoi condena a música; e tenho ouvido falar de educadores modernos que proíbem as crianças de brincar com soldados de chumbo. Lembro-me de um homenzinho tímido que veio ter comigo no decurso de uma soirée socialista, e me pediu que usasse a minha influência (mas eu tenho alguma influência?) em prol da proibição dos livros de aventuras para rapazes. Parece que estas histórias alimentam o apetite pela violência. Mas deixemos isto; no manicómio em que vivemos, não convém perder a calma. Quero apenas salientar que estas coisas, mesmo que sejam privações justas, não deixam de ser privações. Não nego que os antigos vetos e castigos fossem muitas vezes idiotas e cruéis; embora o sejam muito mais num país como Inglaterra (onde, na prática, só os ricos decretam castigos e só os pobres os sofrem) do que em países com uma tradição popular mais marcada, como a Rússia. Na Rússia, é frequente os camponeses chicotearem outro camponês. Na moderna Inglaterra, e na prática, só um cavalheiro pode chicotear um homem muito pobre. Assim, ainda há poucos dias, um rapazinho (filho de um pobre, naturalmente) foi condenado ao chicote e a cinco anos de prisão por ter roubado um pedacito de carvão que, na avaliação dos especialistas, valia uma ninharia. Estou inteiramente do lado dos liberais e humanitários que protestaram contra esta ignorância quase bestial da natureza dos rapazes. Mas também me parece que é um pouco injusto da parte destes humanitários, que estão dispostos a desculpar um roubo a um rapaz, proibirem-no de brincar aos ladrões. Estou perfeitamente convencido de aqueles que aceitam que um miúdo da rua brinque com um pedaço de carvão poderão aceitar igualmente, por um súbito voo da imaginação, que o mesmo miúdo brinque com um soldado de chumbo. Resumindo tudo isto numa única frase: julgo que o meu paciente e aloucado homenzinho poderá ter compreendido que há muitos rapazes que preferiam ser castigados a chicote, e até injustamente, a que os privassem dos livros de aventuras.
VII
A HUMILDADE DA SRA. GRUNDY55
Em suma, a nova educação é tão rígida como a antiga, independentemente de ser ou não tão elevada como ela. Tanto a moda mais livre como a fórmula mais severa são rigorosamente autoritárias. O pai humanista proíbe os soldados porque acha que eles são um mal; ninguém supõe, nem pode supor, que o rapaz esteja de acordo. A impressão do rapaz normal seria com certeza a seguinte: «Se o teu pai for membro da Igreja Metodista, não podes brincar com os soldadinhos ao domingo. Se o teu pai for socialista, nem sequer podes brincar com eles à semana.» Todos os teóricos da educação são totalmente dogmáticos e autoritários. A educação livre não existe; porque quem deixa as crianças em liberdade não está a educá-las. Quer então dizer que não há distinção nem diferença entre os mais preconceituosos defensores das convenções e os mais brilhantes e bizarros inovadores? Que não há diferença entre um pai peso-pesado e uma tia solteira imprudente e especulativa? Há sim. A diferença é que o pai peso-pesado é, apesar de tudo, um democrata. Não impõe uma coisa pelo simples facto de lhe passar pela cabeça que ela deve ser feita; impõe-na porque (usando uma admirável fórmula republicana) «toda a gente faz assim». Ao contrário da autoridade não convencional, a autoridade convencional reclama para si um mandato popular. O puritano que proíbe os soldadinhos ao domingo está pelo menos a exprimir uma opinião puritana; não se trata apenas da opinião dele. Este homem não é um déspota, é uma democracia; talvez seja uma democracia tirânica, uma democracia lúgubre e limitada; mas é uma democracia que pode fazer e que efectivamente faz duas coisas extremamente viris: combater, e apelar para Deus. Já o veto dos adeptos da nova educação é como o veto da Câmara dos Lordes: não finge sequer ser representativo. Estes inovadores passam a vida a falar da modéstia de Sra. Grundy. Não sei se Sra. Grundy era mais modesta do que eles; mas tenho a certeza de que era mais humilde.
Mas há mais uma complicação a ter em conta. O mais anárquico dos modernos poderá tentar fugir ao dilema dizendo que a educação deve contribuir para alargar o espírito, para abrir todos os órgãos da receptividade. Temos de encher a escuridão de luz, afirmará; temos de permitir que as existências cegas e contrariadas dos mais feios recantos da nação se expandam; em suma, temos de iluminar a obscura Londres. Ora bem, o problema é precisamente esse; é que, em termos do que está em discussão, a Londres obscura não existe. Londres não é minimamente obscura; nem sequer à noite. Já dissemos que, se a educação é uma substância sólida, então a educação não existe. Podemos dizer agora que, se a educação é uma expansão abstracta, então não há falta dela. Há-a em excesso. Na verdade, não há outra coisa.
Não há ninguém que não tenha educação. Em Inglaterra, toda a gente tem educação; acontece que a educação da maior parte das pessoas não é a mais adequada. As escolas estatais não foram as primeiras, foram das últimas a ser criadas; e muito antes de o Departamento de Educação da cidade começar a existir, já Londres educava os londrinos. Estamos a falar de um erro muito pragmático. Presume-se continuamente que, a não ser que sejam civilizadas pelas escolas, as crianças são uns bárbaros. Quem me dera que fossem. Todas as crianças de Londres se tornam pessoas altamente civilizadas. Acontece que há muitas civilizações, a maioria das quais nasceu cansada. Qualquer pessoa percebe que o problema dos pobres não reside tanto no facto de os velhos continuarem a ser tolos, mas no facto de os novos já serem sensatos. Os garotos da rua eram educados sem irem à escola; eram mesmo muito educados sem irem à escola. O verdadeiro objectivo das nossas escolas não devia ser tanto o de sugerir complexidade, como o de restabelecer a simplicidade. Os veneráveis idealistas afirmam que temos de combater a ignorância dos pobres; em minha opinião, o que temos de combater é o conhecimento dos pobres. Os verdadeiros educadores devem resistir a uma espécie de ribombante catarata de cultura. O vadio recebe lições de manhã à noite. Quando não estão a olhar para as letras do livro de leitura, as crianças saem para a rua e olham para as letras dos cartazes. Se não se interessam pelos mapas coloridos que lhes mostram na escola, interessam-se pelos mapas coloridos que são publicados nos jornais. Quando se fartam da electricidade, podem apanhar o eléctrico. Se a música não os comove, podem dedicar-se à bebida. Se não se esforçam por conseguir ganhar um prémio na escola, podem esforçar-se por conseguir ganhar o prémio da caixa dos cereais. Se não aprendem o suficiente sobre a lei e a justiça para agradar à professora, aprendem o suficiente para escapar ao polícia. Se não aprendem história como deve ser nos manuais, aprendem-na doutra maneira nos panfletos partidários. E é aqui que reside a tragédia: no facto de os pobres de Londres, que são uma classe especialmente inteligente e civilizada, aprenderem tudo de trás para a frente, chegando ao ponto de aprender o bem sob a aparência de mal. Não tendo acesso aos primeiros princípios contidos nos livros de Direito, têm acesso aos resultados desses princípios nas informações policiais. Não alcançando a verdade da política em estudos abrangentes, alcançam as mentiras dos políticos nas campanhas eleitorais.
Mas sejam quais forem as dificuldades dos pobres de Londres, uma coisa é certa: elas nada têm a ver com a ausência de educação. Com efeito, longe de andarem desorientados, os pobres de Londres são constante, séria e veementemente orientados – só que mal. Os pobres não são de maneira nenhuma esquecidos, são oprimidos; melhor, são perseguidos. Não há em Londres quem não seja alvo dos apelos dos ricos, guinchados em múltiplos cartazes, gritados de múltiplas tribunas. Pois convém nunca esquecer que a estranha e abrupta fealdade das nossas ruas e dos nossos costumes não é uma criação da democracia, mas da aristocracia. A Câmara dos Lordes protestou contra a desfiguração da beira-rio pelos eléctricos; acontece que a maioria dos ricos que desfiguram as paredes da cidade com os seus artigos tem assento na Câmara dos Lordes. Os pares embelezam os assentos do país desfeando horrivelmente as ruas da cidade. Mas isto é um parêntesis. O ponto a ter em consideração é que os pobres de Londres não são ignorados – ficam surdos e confusos com tantos conselhos roucos e despóticos. Os pobres não são como ovelhas sem pastor; pelo contrário, são uma ovelha a quem vinte e sete pastores estão constantemente a gritar. Os jornais, os novos anúncios, os novos medicamentos, as novas teologias, o estrondo e o tinir de metais dos tempos modernos – é contra tudo isso que a escola moderna tem de reagir, se for capaz. Não contesto que a nossa educação elementar seja preferível à ignorância dos bárbaros. Contesto é que a ignorância dos bárbaros exista. Não duvido de que as nossas escolas seriam excelentes para rapazinhos sem instrução. Acontece que não há rapazinhos sem instrução. Uma escola moderna não pode ser apenas mais clara, mais estimulante, mais inteligente e mais rápida que a ignorância e a obscuridade. Tem também de ser mais clara que um postal ilustrado, mais inteligente que um concurso de trocadilhos, mais rápida que o eléctrico e mais estimulante que a taberna. Com efeito, a escola tem a responsabilidade de uma rivalidade universal. Não precisamos de negar que existe em toda a parte uma luz que é capaz de conquistar a escuridão. Neste caso, porém, precisamos de uma luz que seja capaz de conquistar a luz.
VIII
O ARCO-ÍRIS DESFEITO
Vou pegar num caso que servirá, a um tempo, de símbolo e de exemplo: o caso da cor. É costume ouvirmos os realistas (que são uns sujeitos sentimentais) referirem as ruas cinzentas e as vidas cinzentas dos pobres. Acontece porém que as ruas dos pobres podem ser muita coisa, mas cinzentas é que não são; são ruas multicolores, ruas às riscas, às pintas, às malhas e aos remendos como as colchas. Os bairros dos pobres não têm suficiente nível estético para serem monocromáticos; nem estão envoltos num crepúsculo céltico. Na verdade, os miúdos de rua de Londres circulam ilesos por entre fornalhas de cor. Passando por uma parede cheia de anúncios, ora têm como pano de fundo um verde berrante que dá a impressão de que andam a viajar numa floresta tropical; ora ficam negros como os pássaros que evoluem contra o azul forte do Midi; ora parecem o leão vermelho da heráldica, semelhante aos leopardos dourados de Inglaterra. Estes miúdos compreendem bem a irracional paixão patente naquela exclamação do Sr. Stephen Philipps56 acerca do «mais azul dos azuis e do mais verde dos verdes». Não há azul tão azul como o Azul da Reckitt, nem preto mais preto que o da Day and Martin; nem amarelo mais enfático que o da Mostarda Colman57. E se, a despeito deste arco-íris desfeito, o espírito destes miúdos não fica propriamente embriagado de arte e cultura, não é certamente devido à presença de um cinzento universal ou à fome sensorial dos pequenos. É devido ao facto de as cores não lhes serem apresentadas da forma mais adequada, na escala mais adequada e, acima de tudo, pela razão mais adequada. O que lhes falta não são cores, é uma filosofia da cor. Em suma, o único mal do Azul da Reckitt é não ser da Reckitt. O azul não é propriedade da Reckitt., mas do céu; o preto não é propriedade da Day and Martin, mas dos abismos. Nem os cartazes mais artísticos deixam de ser coisas muito pequenas em muito grande escala. Vista deste ponto de vista, a repetição dos anúncios de mostarda torna-se especialmente irritante; trata-se de um condimento, de um pequeno luxo; de uma coisa que, pela sua natureza, não deve ser ingerida em quantidade. É especialmente irónico encontrar, nestas ruas famintas, tão grande quantidade de mostarda para tão pouca carne. O amarelo é um pigmento luminoso; a mostarda é um prazer pungente. Mas, quando uma pessoa olha para estes mares de amarelo, fica com a sensação de que engoliu frascos e frascos de mostarda. E até pode morrer, ou deixar por completo de lhe sentir o gosto.
Suponhamos agora que comparamos estas gigantescas trivialidades que encontramos nos anúncios com as minúsculas e notáveis imagens em que os medievais registavam os seus sonhos: pequenas imagens onde o céu azul pouco maior é que uma safira, e o fogo do juízo eterno é uma insignificante mancha de ouro. A diferença que encontramos entre uns e outros não reside apenas no facto de a arte dos cartazes ser, por natureza, mais apressada do que a arte da iluminura; nem sequer reside apenas na circunstância de os artistas do passado estarem ao serviço do Senhor, enquanto os artistas modernos estão ao serviço dos senhores. A diferença é que os artistas de outros tempos conseguiam transmitir a impressão de que as cores eram efectivamente significativas e preciosas, quais joias e pedras talismã. As cores eram frequentemente arbitrárias; mas eram sempre autorizadas. Se um pássaro era azul, se uma árvore era dourada, se um peixe era prateado, se uma nuvem era encarnada, o artista conseguia transmitir a ideia de que estas cores eram importantes e quase dolorosamente intensas; que o vermelho era sangue e o ouro tinha sido experimentado no fogo. Ora, é esse espírito que as escolas têm de recuperar e proteger, se de facto querem proporcionar às crianças algum apetite imaginativo e uma certa satisfação na coisa. Não se trata tanto do prazer da cor, quanto de uma espécie de fogosa parcimónia; a parcimónia que veda um campo verde em heráldica com o mesmo rigor com que veda um campo verde no direito de propriedade rural. Que não deita fora folhas de ouro como não deita fora moedas de ouro; que não derrama estouvadamente púrpura e carmesim, como não entorna vinho de boa qualidade nem verte sangue inocente. É essa a dura missão dos teóricos da educação neste domínio específico: ensinar as pessoas a apreciar as cores como se aprecia um licor. Compete-lhes a difícil trefa de transformar bêbedos em provadores de vinho. Se o século XX conseguisse realizar estas coisas, estaria quase à altura do século XII.
Mas este princípio abarca toda a vida moderna. Morris e os medievalistas estéticos sempre salientaram que, no tempo de Chaucer, as multidões envergavam vestes mais coloridas e luminosas que no tempo da rainha Vitória. Não me parece que seja realmente isso que distingue as duas cenas de rua. Na primeira cena tinha de haver hábitos castanhos de frades, como na segunda havia chapéus castanhos de funcionários. Na segunda cena tinha de haver plumas roxas de operárias, como na primeira havia vestes roxas na quaresma. Numa haveria coletes brancos e noutra arminho branco; numa correntes de ouro nos relógios e noutra leões de ouro. Mas a verdadeira diferença entre elas reside no facto de o castanho cor de terra das capas dos monges ser instintivamente escolhido com o fito de expressar o trabalho e a humidade, ao passo que o castanho dos chapéus dos funcionários não pretendia expressar coisa nenhuma. Os monges queriam comunicar que se vestiam de pó. Mas tenho a certeza de que os funcionários vitorianos não queriam comunicar que se cobriam de barro; não estavam a cobrir a cabeça com pó, significando que esse é o único diadema do homem. O roxo, que era uma cor intensa e sombria, faz pensar num triunfo que foi temporariamente eclipsado por uma tragédia. Mas os chapéus das operárias não pretendiam significar um triunfo temporariamente eclipsado por uma tragédia; longe disso. O arminho branco queria exprimir a pureza moral; os coletes brancos não pretendem expressar tal coisa. Os leões dourados sugerem uma magnanimidade flamejante; as correntes de relógio de ouro não. O problema não consiste em termos perdido as cores; consiste em termos perdido a capacidade de extrair deles todos os benefícios que eles encerram. Não somos crianças que perderam a caixa das aguarelas, e ficaram reduzidas a um lápis de carvão cinzento. Somos crianças que misturaram todas as cores da caixa das aguarelas e perderam o papel com as instruções. E não nego que até assim uma pessoa se pode divertir.
Ora, esta abundância de cores, acompanhada pela perda do padrão, é uma bela parábola dos problemas com que se confrontam os nossos ideais modernos, em especial a educação moderna. E o mesmo se passa com a educação moral, com a educação económica, com todo o tipo de educação. A criança que cresce em Londres não encontrará escassez de professores controversos que lhe dirão que a geografia consiste em pintar o mapa de encarnado; que a economia consiste em obrigar os estrangeiros a pagar impostos; que o patriotismo consiste nesse hábito tão pouco inglês de hastear a bandeira no Dia do Império. Quando refiro estes exemplos, não pretendo dar a entender que do outro lado não há cruezas e falácias populares do mesmo género. Refiro-os porque eles são um aspecto muito específico e chamativo desta situação. De facto, sempre houve revolucionários radicais; mas agora há revolucionários conservadores. O conservador moderno deixou de conservar. O conservador moderno é um inovador. Assim, os argumentos a favor da Câmara dos Lordes que defendem que ela é um baluarte contra a ralé estão intelectualmente arrumados; caíram pela base; porque, em cinco ou seis questões turbulentas da actualidade, a Câmara dos Lordes é uma ralé; e é extremamente provável que se comporte como tal.
IX
A NECESSIDADE DA ESTREITEZA
Depois de passarmos por todo este caos, regressamos uma vez mais à nossa principal conclusão. A verdadeira tarefa da cultura do nosso tempo não é promover a expansão, mas promover a selecção – e a rejeição. O teórico da educação tem de descobrir um credo e de o ensinar. Mesmo que não se trate de um credo teológico, tem de ser um credo tão exigente e firme como a teologia. Em suma, tem de ser ortodoxo. O professor pode pensar que é antiquado ter de decidir precisamente entre a fé de Calvino e a de Laud58, a fé de Tomás de Aquino e a de Swedenborg; mas tem sempre de escolher entre a fé de Kipling e a de Shaw, entre o mundo de Blatchford e o do General Booth59. Há quem diga que a questão de saber se os filhos de um homem vão ser educados pelo vigário, o pastor ou o padre papista é uma questão limitada; mas até estas pessoas terão de se confrontar com outra questão – mais ampla, mais liberal e mais civilizada – que consiste em decidir se eles vão ser educados por Harmsworth60 ou por Pearson61, pelo Sr. Eustace Miles62 e a sua Vida Simples, ou pelo Sr. Peter Keary e a sua Vida Esforçada; se lerão preferencialmente Annie S. Swan63 ou o Sr. Bart Kennedy64; em suma, se acabarão na simples violência do S.D.F.65 ou na simples vulgaridade da Primrose League66. É costume ouvir dizer que os credos estão a desmoronar-se; duvido muito, mas pelo menos as seitas estão a aumentar; e a educação tem hoje de ser sectária, quanto mais não seja por motivos práticos. Tem de conseguir seleccionar uma teoria do conjunto de teorias existentes; tem de conseguir ouvir uma voz de entre o conjunto de vozes ribombantes; tem de ser capaz de identificar e seguir uma estrela no meio desta horrível e dolorosa batalha de luzes ofuscante sem uma sombra que lhes dê forma.
Até agora, tenho estado a falar da educação popular, que começou por ser muito vaga e muito ampla, e que por isso não produziu grande coisa. Mas acontece que há em Inglaterra uma coisa com que podemos compará-la. Há uma instituição, ou uma classe de instituições, que, tendo começado por ter o mesmo objectivo popular, se orientou recentemente para um objectivo bastante mais restrito, mas com a enorme vantagem de se ter orientado para um objectivo, que é o que não acontece às modernas escolas elementares.
Recomendo para todos estes problemas uma solução positiva ou, como dizem os tolos, «optimista». Ou seja, oponho-me à maioria das soluções, que são exclusivamente negativas e abolicionistas. Os educadores dos pobres parecem considerar quase sempre que têm de ensinar os pobres a não beber. Eu ficaria muito satisfeito se os ensinassem a beber, porque a maioria das tragédias resulta de não se saber como e quando se pode ou deve beber. Não proponho (ao contrário de alguns dos meus amigos revolucionários) a abolição das escolas privadas. Proponho uma experiência bastante mais sórdida e desesperada: a sua transformação em escolas públicas. Não pretendo fazer com que o parlamento não trabalhe, mas com que trabalhe; não pretendo fechar as igrejas, mas abri-las; não pretendo apagar a lamparina da aprendizagem nem destruir a vedação da propriedade, mas apenas fazer um esforço para que as universidades sejam mais universais e que as propriedades sejam decentes.
Recorde-se que, em muitos casos, estes actos não consistem apenas em regressar ao velho ideal, mas em regressar à velha realidade. Seria um grande passo em frente se os bares voltassem a ser estalagens. É absolutamente verdade que medievalizar as escolas privadas era torná-las mais democráticas. Noutros tempos, o parlamento era (como o nome parece indicar) um local onde as pessoas estavam autorizadas a falar. Foi só recentemente que o acréscimo geral da eficácia – da eficácia do presidente – fez dele um local onde as pessoas são impedidas de falar. Os pobres não frequentam as igrejas modernas, mas frequentavam as antigas; e se o homem comum do passado tinha um respeito grave pela propriedade, talvez fosse – quem sabe – porque ele próprio até tinha uma ou outra em seu nome. Posso pois afirmar que não é o vulgar espírito de inovação que me move quando falo de qualquer destas instituições. Não tenho qualquer intenção de ser inovador quando me refiro àquela instituição que sou agora forçado a seleccionar; trata-se aliás de um tipo de instituição relativamente à qual tenho razões genuínas e pessoais para me sentir grato; refiro-me a essas grandiosas fundações dos Tudor que são as escolas privadas de Inglaterra. Estas escolas têm sido elogiadas por muitas coisas magníficas, principalmente – lamento dizê-lo – por si mesmas e pelos seus alunos. E contudo, por qualquer razão estranha, nunca ninguém as elogiou pela única razão convincente pela qual merecem o elogio.
X
A RAZÃO DE SER DAS ESCOLAS PRIVADAS
A palavra sucesso pode, como se sabe, ser usada em dois sentidos. Pode ser usada com o sentido de uma coisa que serve o seu propósito imediato e peculiar, como é o caso de uma roda que gira; e pode ser usada em referência a uma coisa que contribui para o bem-estar geral, caso em que a roda é uma descoberta útil. Uma coisa é dizer que determinada máquina voadora foi um fracasso, outra muito diferente é afirmar que o seu criador não conseguiu fazer uma máquina voadora. Ora bem, esta é, em termos amplos, a grande diferença entre as velhas escolas privadas e as novas escolas democráticas. É possível que, em última análise, as velhas escolas privadas não estejam a fortalecer, mas a enfraquecer o país (é essa a minha opinião), sendo por isso, nessa última análise, ineficazes. Mas uma coisa pode ser eficazmente ineficaz. Um homem pode fazer uma máquina voadora que voe, estando ao mesmo tempo a fazer uma máquina voadora que o vai matar. Ora bem, o sistema das escolas privadas pode não funcionar de forma satisfatória, mas funciona; as escolas privadas podem não alcançar aquilo que nós pretendemos, mas alcançam aquilo que elas pretendem. Neste sentido, as escolas públicas elementares não alcançam coisa nenhuma. É muito difícil apontar para um miúdo de rua e afirmar que ele encarna o ideal para o qual a educação pública tem trabalhado, no sentido em que o tolo rapazinho de faces coradas que sai das escolas privadas encarna efectivamente o ideal para o qual trabalham os directores das mesmas. Os promotores da educação aristocrática têm como objectivo declarado produzir cavalheiros, e produzem-nos de facto, mesmo quando os expulsam. Os promotores da educação popular afirmam que são movidos por uma ideia muito mais nobre, que consiste em produzir cidadãos. Concedo que se trata de uma ideia muito mais nobre, mas onde estão os tais cidadãos? É verdade que os rapazes das escolas privadas adoptam um estoicismo tolo e sentimental, a que se chama ser um homem do mundo. Mas não me parece que os miúdos da rua ostentem a rigidez do estoicismo republicano a que se chama ser um cidadão. O aluno de uma escola privada dirá com renovada e inocente superioridade: «Eu sou um cavalheiro inglês»; não imagino o miúdo da rua a erguer a cabeça às estrelas para responder: «Romanus civis sum». Concedo que os professores das nossas escolas públicas ensinam um amplo código moral, enquanto os grandiosos directores das nossas escolas privadas ensinam apenas um estreito código de boas maneiras. E concedo que estas duas coisas são ensinadas. Acontece que só uma delas é aprendida.
Costuma-se dizer que os grandes reformadores e senhores dos acontecimentos conseguem introduzir reformas específicas e práticas, mas nunca chegam a realizar a sua visão nem a satisfazer a alma. Estou convencido de que, num sentido muito real, esta aparente platitude é falsa. Por via de uma estranha inversão, é frequente o idealista político não alcançar aquilo que pediu, mas aquilo que queria. A silenciosa pressão do ideal é muito mais duradoura e muito mais transformadora do mundo do que as realidades por meio das quais ele procura sugerir o mesmo ideal. Aquilo que perece é a letra, que a ele lhe parecia tão prática. Aquilo que permanece é o espírito, que a ele lhe parecia inalcançável, e mesmo inexprimível. São precisamente os planos que não se realizam; o que se realiza é a visão. Assim, as dez ou doze constituições que a Revolução Francesa produziu, e que pareciam extremamente pragmáticas aos seus autores, a nós parecem-nos ter sido levadas pelo vento, quais fantasias líricas. Já a República, a ideia de uma terra cheia de simples cidadãos, todos com um mínimo de boas maneiras e um mínimo de riqueza pessoal, que era a visão do século XVIII, é a realidade do século XX. E parece-me que assim será com o criador de coisas sociais, sejam elas desejáveis ou indesejáveis. Todos os seus planos acabarão por fracassar, todas as suas ferramentas acabarão por se lhe partir nas mãos. Os seus compromissos desaparecerão, as suas concessões serão inúteis. Ele tem de se preparar para suportar o destino, pois apenas lhe restarão os desejos do coração.
Ora, se nos for permitido comparar coisas muito pequenas com coisas muito grandes, podemos dizer que as escolas aristocráticas inglesas obtêm o mesmo género de êxito e de sólido esplendor que a política democrática francesa. Ou pelo menos têm o mesmo género de superioridade relativamente às dispersas e desajeitadas tentativas feitas na moderna Inglaterra com vista ao estabelecimento de uma educação democrática. O êxito que os alunos das escolas privadas alcançaram em todo o império – um êxito que foi efectivamente exagerado pelos próprios, mas que não deixa de ser real e de ser um facto de indiscutível forma e dimensão – ficou a dever-se à central e suprema circunstância de os gestores das nossas escolas privadas saberem qual era o tipo de rapaz que lhes agradava. Eles queriam determinada coisa e conseguiram-na; ao contrário dos outros, que trabalhavam de espírito aberto e, querendo tudo, não conseguiram nada.
A única coisa que se pode questionar é a qualidade daquilo que eles alcançaram. É extremamente irritante verificar que, quando atacam uma instituição que precisa realmente de ser reformada, os modernos a atacam por más razões. Assim, muitos opositores às escolas privadas, que imaginam que são muito democráticos, esgotaram-se num incompreensível ataque ao estudo do grego. Compreendo que o grego seja considerado inútil, em especial para aqueles que estão ansiosos por se lançar na vigorosa actividade económica que é a própria negação da cidadania; mas não compreendo que seja tido por pouco democrático. Compreendo perfeitamente que o Sr. Carnegie67 odeie o grego; é um ódio fundado na firme e segura impressão de que ele próprio teria sido condenado à morte em qualquer cidade grega com governação autónoma. Mas não compreendo porque hão-de democratas como o Sr. Quelch68, o Sr. Will Crooks69, eu próprio ou o Sr. John M. Robertson70 opor-se a que haja pessoas que aprendam o alfabeto grego, que era o alfabeto da liberdade. Porque é que os radicais odeiam o grego? É nessa língua que está escrita a mais antiga e – valham-nos os céus – a mais heróica história do partido radical. Por que há-de o grego desagradar a um democrata, quando democrata é uma palavra grega?
Erro parecido, embora menos relevante, é o que consiste em atacar as actividades atléticas que se praticam nas escolas privadas por promoverem o animalismo e a brutalidade. A brutalidade – no único sentido imoral do termo – não é um vício das escolas privadas inglesas. Há nelas uma grande dose de intimidação moral, que é devida à generalizada falta de coragem moral reinante no ambiente. De uma maneira geral, estas escolas promovem a coragem física; mas não se limitam a despromover a coragem moral – proíbem-na. O resultado desta posição é perceptível no egrégio oficial inglês que nem sequer consegue usar o uniforme a não ser quando se encontra disfarçado e oculto pelo fumo do campo de batalha. Tanto esta atitude como as afectações da nossa actual plutocracia são coisas inteiramente modernas. O Príncipe Negro71 teria certamente exigido que um cavaleiro que tinha a coragem de erguer a crista à vista dos seus inimigos também tivesse a coragem de a erguer à vista dos amigos. Assim, pois, as escolas privadas não só não promovem a coragem moral, como a combatem firmemente. Mas o mesmo não se passa com a coragem física que, de uma maneira geral, estas escolas promovem; e a coragem física é absolutamente fundamental. O maior inglês do século XVIII afirmava, e com razão, que se um homem perdia essa virtude, não podia ter a certeza de conservar as outras. Ora bem, uma das patológicas mentiras da modernidade consiste em dizer que a coragem física está relacionada com a crueldade. Não há coisa em que os adeptos de Tolstoi e os adeptos de Kipling estejam mais de acordo do que nisto. Julgo que têm um pequeno desacordo entre si, já que um deles afirma que se deve abandonar a coragem porque ela está relacionada com a crueldade, enquanto o outro defende que a crueldade é uma coisa simpática porque faz parte da coragem. Felizmente, tudo isto é mentira. A energia e ousadia do corpo tornam o homem estúpido ou temerário, entediante, embriagado ou faminto, mas não o tornam rancoroso. E temos de reconhecer com veemência (sem cairmos naquele coro de constantes elogios com que os alunos das escolas privadas se cobrem) que, por esta razão, a crueldade maléfica está ausente das escolas privadas. A vida nestas escolas é extremamente parecida com a vida pública do país, porque aquelas escolas são uma preparação para a vida pública. E é parecida especialmente neste aspecto: as coisas são, ou muito abertas, normais e convencionais, ou extremamente secretas. Ora, é certo que há crueldade nas escolas privadas, como há cleptomania, bebedeiras e vícios sem nome. Mas estas coisas não florescem à luz do dia e da consciência geral da escola – e o mesmo se passa com a crueldade. Um trio minúsculo de rapazes de ar carregado reúne-se pelos cantos, e parece dedicar-se a actividades perversas, que poderão ir da literatura indecente, à bebida, ou à crueldade para com os colegas mais novos. Nesta fase, porém, o rapaz violento não é um fanfarrão. Diz o provérbio que os desordeiros são sempre cobardes, mas estes desordeiros são mais do que cobardes – são tímidos.
Como terceiro exemplo da revolta mal dirigida contra as escolas privadas, posso referir o costume de usar a palavra aristocracia com uma dupla implicação. Dizendo a simples verdade com toda a brevidade possível, se a aristocracia consiste em ser governado por um rei abastado, então a Inglaterra tem uma aristocracia, que é apoiada pelas escolas públicas. Mas, se significa que o país é governado por membros de famílias antigas de impecável ascendência, não só a Inglaterra não tem uma aristocracia, como as escolas privadas promovem a sua destruição sistemática. Nestes círculos, a verdadeira aristocracia – tal como a verdadeira democracia – deixou de ser apreciada. Um anfitrião moderno não se atreve a elogiar a sua linhagem, porque tal seria, em muitos casos, um insulto para metade dos oligarcas que tem à sua mesa, que não têm linhagem. Já dissemos que este homem não tem a coragem moral de usar o uniforme; mas tem ainda menos coragem de usar o brasão. A aristocracia não passa hoje de um vago cozinhado de cavalheiros simpáticos e antipáticos. Os cavalheiros simpáticos não fazem referência aos pais dos outros; os antipáticos não fazem referência ao próprio pai. E essa é a única diferença; o resto são as boas maneiras aprendidas nas escolas privadas. Mas estas escolas têm de ser aristocráticas, porque o seu público é quase todo constituído por novos-ricos. As escolas privadas não são uma espécie de refúgio para aristocratas, uma espécie de asilo para onde eles entram e de onde nunca mais saem. São uma fábrica de aristocratas, de onde eles saem sem nunca terem entrado. Nas antigas escolas particulares, onde reinava um estilo sentimental e feudal, costumava estar afixado um aviso que dizia: «Só para filhos de cavalheiros». Se as escolas privadas afixassem algum aviso, seria a dizer: «Só para pais de cavalheiros». E tratavam do assunto em duas gerações.
XI
A ESCOLA DOS HIPÓCRITAS
Estas são as falsas acusações: a acusação de classicismo, a acusação de crueldade, a acusação de exclusividade com base na perfeição da estirpe. Os alunos das escolas privadas inglesas não são pedantes nem carrascos; nem são, na grande maioria dos casos, gente ferozmente orgulhosa da sua linhagem, ou sequer gente com linhagem da qual possam orgulhar-se. Aprendem a ser corteses, a ser contidos, a ser fisicamente corajosos, a ser fisicamente higiénicos; costumam tratar bem os animais, ser civilizados com os criados, e com todas as pessoas que considerem seus iguais, e excelentes companheiros de aventuras. Nesse caso, qual é o problema das escolas privadas? Tenho a impressão de que todos achamos que estas escolas têm um problema profundo, mas não conseguimos perceber qual é, cegos que estamos por um muro de fraseologia jornalística; de tal maneira que se torna difícil identificar, por detrás das palavras e das frases, a origem dos males desta grandiosa instituição inglesa.
Seguramente que, bem pesadas todas as coisas, a grande objecção que se pode fazer às escolas privadas inglesas é o seu manifesto e indecente desprezo pela obrigação de dizer a verdade. Bem sei que continua presente no espírito das damas solteiras das aldeias remotas do reino a ideia de que os rapazes ingleses aprendem a dizer a verdade; mas tal noção não se aguenta de pé durante muito tempo. Os rapazes ingleses aprendem, muito ocasional e muito vagamente, a não dizer mentiras, que é uma coisa muito diferente. Eu posso sustentar silenciosamente as mais obscenas ficções e invenções do mundo, sem dizer uma única mentira. Posso vestir o casaco do parceiro, roubar as criações do parceiro, apostatar a favor da religião do parceiro, envenenar o café do parceiro – tudo isto sem dizer uma única mentira. Mas os rapazes ingleses não aprendem a dizer a verdade, pela simples razão de que não lhes ensinam a desejar a verdade. O que lhes ensinam desde o princípio é a não querer minimamente saber se um facto é um facto; a querer saber apenas se o facto pode ser usado a seu favor. Estes rapazes tomam partido num debate em que se discute se Carlos I devia ter sido morto com a mesma solene e pomposa frivolidade com que tomam partido no campo de jogos para decidir qual de dois clubes deve ganhar a partida. Não se lhes permite aceder à noção abstracta da verdade: que o resultado do jogo tem a ver com o que poderá acontecer, mas a morte de Carlos I tem a ver com o que aconteceu – ou não. Estes rapazes votam nos liberais ou nos conservadores nas eleições com o mesmo espírito com que são por Oxford ou por Cambridge na corrida fluvial. Sabem que o desporto tem a ver com o desconhecido; mas não lhe passa pela cabeça que a política tem a ver com o conhecido. E se alguém duvida desta proposição evidente – que as escolas privadas despromovem manifestamente o amor à verdade –, há um facto que me parece que pode convencê-las. A Inglaterra é o país do Sistema de Partidos, que sempre foi governada basicamente por frequentadores das escolas privadas. E alguém será capaz de defender que – independentemente das suas vantagens e desvantagens – o sistema de partidos podia ter sido criado por pessoas que apreciassem especialmente a verdade?
A própria felicidade inglesa neste ponto é hipócrita. Quando um homem diz efectivamente a verdade, a primeira verdade que ele diz é que é um mentiroso. Falando a correr – isto é, honestamente –, David afirmou que todos os homens mentem; só depois, já numa explicação oficial e mais calma, é que declarou que pelo menos os reis de Israel dizem a verdade. Quando foi vice-rei, Lord Curzon deu uma lição moral aos indianos sobre a famosa indiferença à veracidade, à realidade e à honra intelectual deste povo. Muita gente se indignou, pondo em causa que os orientais merecessem tal censura; que os indianos estivessem efectivamente em posição de receber tão severa admoestação. Não ocorreu a ninguém perguntar, como eu me atrevo a perguntar, se Lord Curzon estava em posição de a fazer. Lord Curzon é um político normal, membro de um partido; o que significa que se trata de um político que podia pertencer a qualquer dos partidos. Como tal, está obrigado uma vez e outra – a cada reviravolta da estratégia do partido – a enganar os outros ou a enganar-se grosseiramente a si próprio. Não conheço o Oriente; nem gosto daquilo que conheço. Estou perfeitamente disposto a admitir que, quando lá chegou, Lord Curzon foi encontrar um ambiente de grande falsidade. Só digo que, para ser um ambiente mais falso do que o ambiente inglês de onde ele vinha, tinha de ser uma coisa absolutamente devastadora de falsidade. Com efeito, o parlamento inglês interessa-se por tudo menos pela veracidade. Os alunos das escolas privadas são amáveis, corajosos, corteses, limpos e bons companheiros; mas, e isto no sentido mais terrível destas palavras, a verdade não está neles.
Esta fraqueza, que consiste na falta de veracidade nas escolas privadas inglesas, no sistema político inglês e, até certo ponto, no carácter inglês é uma fraqueza que produz necessariamente uma curiosa colheita de superstições, de lendas mentirosas e de evidentes enganos, a que as pessoas se agarram em razão de uma grosseira autocomplacência espiritual. As superstições das escolas privadas são tantas, que só tenho espaço para referir uma delas, a que podemos chamar a superstição do sabão. Trata-se de uma superstição que parece ter sido comum aos fariseus, que aliás tinham muitas outras semelhanças com os aristocratas das escolas privadas: a enorme preocupação com as regras e as tradições dos clubes a que pertencem, o ofensivo optimismo à custa das outras pessoas, e principalmente o laborioso e prosaico patriotismo nos piores interesses do país. Ora bem, diz o bom senso dos seres humanos que lavar-se é um grande prazer. A água (quando aplicada exteriormente) é uma coisa esplêndida, é como o vinho. Os sibaritas tomam banho em vinho e os não-conformistas bebem água; mas o que agora nos interessa não são estas excepções. Dado que é um prazer a pessoa lavar-se, é razoável que os ricos tenham mais possibilidade de o fazer que os pobres, e enquanto tal facto foi reconhecido não houve problemas; e era muito natural que os ricos proporcionassem aos pobres a possibilidade de estes tomarem banho, como quem oferece uma coisa agradável – uma bebida ou um passeio de burro. Acontece que um belo dia, algures a meio do século XIX, houve alguém (uma pessoa muito abastada) que descobriu as duas grandes verdades da modernidade: que a higiene é uma virtude para os ricos, e portanto um dever para os pobres. Porque um dever é uma virtude que não se pode exercitar. E uma virtude é, em geral, um dever que se pode exercitar com facilidade; como por exemplo a higiene corporal das classes altas. Na tradição das escolas privadas, contudo, o sabão tornou-se apreciado por ser agradável. Os banhos são apresentados como uma componente da decadência do Império Romano; mas os mesmos banhos são também apresentados como uma componente da energia e do rejuvenescimento do Império Britânico. Há muitos bispos, professores, directores de escolas e políticos – gente distinta que se formou nas escolas privadas – que, no contexto dos elogios que fazem regularmente a si próprios, identificam a higiene física com a pureza moral. Dizem eles (se não estou enganado) que um homem que tenha frequentado uma destas escolas está limpo por dentro e por fora. Como se nós não soubéssemos que os santos podem dar-se ao luxo de andar sujos, mas os sedutores têm de andar limpos. Como se nós não soubéssemos que a prostituta tem de andar limpa porque lhe compete cativar, enquanto a esposa pode andar suja porque lhe compete limpar. Como se nós não soubéssemos que quando o trovão de Deus se abate sobre nós, o mais provável é, de longe, encontrar os homens simples metidos dentro de uma carroça de estrume e o canalha complexo a regalar-se com um banho.
Há, naturalmente, outros exemplos deste untuoso truque que consiste em transformar os prazeres dos cavalheiros em virtudes anglo-saxónicas. Tal como o sabão, também o desporto é uma coisa admirável; e, tal como o sabão, também o desporto é uma coisa agradável. E praticar desporto como um desportista não é propriamente a epítome dos méritos de um mortal, sobretudo num mundo onde tantas vezes um homem tem necessidade de trabalhar a sério. Com certeza, deixemos que o cavalheiro se congratule pelo facto de, ao contrário do blasé e do homem adulto, não ter perdido o seu amor natural pelo prazer. Mas, quando uma pessoa se dedica a prazeres infantis, é bom que também tenha uma inconsciência infantil; e não me parece que devamos ter um afecto especial por um rapazinho que repete constantemente que é seu dever brincar às escondidas e que uma das virtudes da sua família é ser campeã da bisca.
Outra irritante hipocrisia do mesmo género é a atitude oligárquica para com a mendicância, por oposição à caridade organizada. Também neste caso, tal como no caso da higiene e do desporto, a atitude seria perfeitamente humana e inteligível se não fosse apresentada como um mérito. Assim como a característica mais óbvia do sabão é ser conveniente, assim também a característica mais óbvia dos pedintes é serem inconvenientes. Os ricos não seriam minimamente criticáveis se se limitassem a dizer que nunca se tinham relacionado directamente com pedintes porque na moderna civilização urbana é impossível uma pessoa relacionar-se directamente com pedintes; ou, se não é impossível, é pelo menos muito difícil. Mas estas pessoas não se recusam a dar esmola aos pedintes por ser muito difícil praticar tal caridade. Recusam-se com a hipócrita justificação de que é muito fácil praticar tal caridade. E afirmam, com gravidade grotesca: «Qualquer pessoa pode meter a mão ao bolso e dar uma moeda a um pobre; mas nós, os filantropos, vamos para casa e reflectimos e meditamos no problemas do pobre homem, até descobrirmos qual é exactamente a prisão, o reformatório, o albergue ou o asilo que melhor se adapta a ele.» O que é uma mentira descarada. Eles não vão para casa reflectir sobre o homem e, se fossem, isso em nada alterava o facto original de que a razão pela qual os pobres lhes desagradam é uma relação perfeitamente racional: os pobres são desagradáveis. Um homem pode perfeitamente ser perdoado pelo facto de não praticar este ou aquele acto de caridade, em especial no contexto de uma questão genuinamente difícil como é a questão da mendicância. Mas fugir a uma tarefa difícil com base no argumento de que há outras ainda mais difíceis é de uma hipocrisia repelente. Se um homem tentasse falar com os dez pedintes que lhe batem à porta, rapidamente verificaria se é ou não mais fácil falar com eles do que passar um cheque com um donativo a um hospital.
XII
A INSIPIDEZ DAS NOVAS ESCOLAS
É pois por esta razão profunda e incapacitante – a cínica e depravada indiferença à verdade – que as escolas privadas de Inglaterra nos não proporcionam o ideal por que ambicionamos. Apenas podemos solicitar aos críticos modernos das mesmas que se lembrem de que, bem ou mal, a coisa se pode fazer; que a fábrica está a funcionar, que as rodas estão em movimento, que estão a produzir-se cavalheiros – já com o sabão, as actividades desportivas e a caridade organizada. E neste aspecto, a escola privada tem, como dissemos, uma grande vantagem sobre os outros esquemas educativos do nosso tempo. É fácil identificar um aluno de uma escola privada em qualquer dos muitos empreendimentos por onde eles se espalham, desde um antro chinês de ópio até um jantar de judeus alemães. Mas duvido de que fôssemos capazes de distinguir uma rapariguinha educada numa escola não confessional doutra educada numa escola secular. Neste sentido, a grande aristocracia inglesa que nos governa desde a Reforma é realmente um modelo para os modernos. Tinha um ideal, e por isso produziu uma realidade.
Podemos repetir aqui que o principal objectivo destas páginas é mostrar uma coisa: que o progresso deve assentar em princípios, enquanto o nosso progresso moderno assenta principalmente em precedentes. Não funcionamos com base naquilo que se afirma na teoria, mas como base naquilo que já foi aceite na prática. É por isso que os jacobitas são os últimos conservadores da história por quem uma pessoa enérgica pode ter simpatia. Eles queriam uma coisa específica; e estavam dispostos a avançar em direcção a ela, pelo que também estavam dispostos a recuar em direcção a ela. Mas os conservadores modernos são tão desinteressantes, que apenas são capazes de defender situações que não tiveram o vigor de criar. Os revolucionários fazem reformas; os conservadores limitam-se a conservar reformas, sem nunca reformaram as reformas, coisa que é frequentemente muito necessária. Assim como a rivalidade entre as armas mais não é, em muitos casos, que uma espécie de plágio mal-humorado, assim também a rivalidade entre partidos mais não é que uma espécie de legado mal-humorado. Os homens têm direito a voto, pelo que as mulheres também têm de o ter; as crianças pobres aprendem à força, pelo que também têm de ser alimentadas à força; a polícia encerra os bares à meia-noite, pelo que em breve estará a fechá-los às onze horas; as crianças estão na escola até aos catorze anos, pelo que em breve terão de estar até aos quarenta. Nenhum brilho de racionalidade, nenhum regresso momentâneo aos primeiros princípios, nenhuma colocação abstracta de perguntas óbvias pode interromper este louco e monótono galope de simples progresso por precedente, que é uma boa maneira de evitar uma revolução efectiva. Por esta lógica de acontecimentos, os radicais tornam-se tão rotineiros como os conservadores. Deparamos com um velho lunático de cabelos brancos que nos conta que o avô lhe disse que se deixasse estar à beira de uma vedação. E a seguir deparamos com outro velho lunático de cabelos brancos que nos conta que o avô lhe disse que fosse por uma certa viela.
Podemos repetir esta primeira parte do argumento, porque acabamos de chegar a um ponto onde ele fica inabalavelmente demonstrado. A prova definitiva de que as nossas escolas públicas não têm um ideal próprio e definido é o facto de imitarem claramente os ideais das escolas privadas. Nas escolas públicas, encontramos os preconceitos e exageros éticos das melhores escolas privadas, cuidadosamente copiados e aplicados a pessoas às quais eles se não aplicam nem de longe. Encontramos a mesma doutrina totalmente desproporcionada do efeito da higiene física no carácter moral. A educação e os políticos da educação declaram, ao som de calorosos aplausos, que a higiene é muito mais importante do que as questiúnculas acerca da formação moral e religiosa. Fica-se com a impressão de que, desde que o rapazinho lave as mãos, pouco importa que elas estivessem sujas da compota da mãe ou das entranhas do irmão. Encontramos a mesma ideia, fortemente desprovida de sinceridade, de que o desporto promove o sentido de honra, embora saibamos perfeitamente que por vezes o destrói. Acima de tudo, encontramos o mesmo grande pressuposto da classe alta, segundo o qual as coisas ficam mais bem feitas quando são feitas por grandes instituições que lidam com grandes quantias e dão ordens a toda a gente; e a caridade trivial e impulsiva é, em certo sentido, desprezível. Como observa o Sr. Blatchford, «O mundo não precisa de piedade, precisa de sabão – e de socialismo.» É que a piedade é uma virtude popular, enquanto o sabão e o socialismo são dois passatempos da classe média alta.
Estes ideais ditos «saudáveis», que os nossos políticos e os nossos mestres-escola foram buscar às escolas aristocráticas e aplicaram às escolas democráticas, não são minimamente adequados a uma democracia empobrecida. Uma vaga admiração por um governo organizado e uma vaga desconfiança da ajuda individual não se adequam à vida de pessoas para quem a simpatia consiste em emprestar uma caçarola e a honra em não ir parar à casa de correcção. E transforma-se, seja na despromoção daquele sistema de pronta e ocasional generosidade que é a glória diária dos pobres, seja em vagos conselhos a pessoas que não têm dinheiro para gastar de forma insensata. Por outro lado, a exagerada glória do desporto – defensável, é certo, quando se trata de ricos que, se não andassem a correr e a saltar, passavam o dia a comer e a beber – não tem grande aplicação a pessoas que, na sua maioria, já fazem bastante exercício, seja com a pá e o martelo, seja com a picareta e a serra. Quanto ao terceiro caso, o caso da higiene, é óbvio que a lógica da elegância corporal que se aplica a uma classe ornamental não se pode aplicar sem mais a um cantoneiro. Espera-se de um cavalheiro que esteja basicamente impecável a todas as horas do dia. Mas é tão natural que um varredor de rua esteja sujo como é natural que um mergulhador ande molhado. Um limpa-chaminés tem tanta razão para andar coberto de fuligem como Miguel Ângelo para andar coberto de argila e Bayard para andar coberto de sangue. E estes proponentes da aplicação das tradições das escolas privadas às públicas não sugeriram qualquer substituto para o sistema pretensioso em que estamos metidos, que torna a higiene corporal inacessível aos pobres; refiro-me ao ritual do linho e ao uso das roupas de que os ricos se fartaram. Um homem mete-se dentro das roupas de outro homem como se mete dentro da casa de outro homem. Não é de espantar que os nossos teóricos da educação não se sintam horrorizados com o facto de um homem pegar nas calças em segunda mão de um aristocrata; é que eles próprios limitaram-se a pegar nas ideias em segunda mão do mesmo aristocrata.
XIII
OS PAIS PROSCRITOS
Há pelo menos uma coisa acerca da qual não se ouve um murmúrio que seja no interior das escolas públicas: a opinião do povo. As únicas pessoas que parecem nada ter a ver com a educação das crianças são os pais. Contudo, os pobres ingleses têm tradições muito precisas sobre vários aspectos. Mas são tradições que andam ocultas sob um véu de vergonha e ironia; e os psicólogos que conseguiram chegar a elas afirmam que são entidades muito estranhas, bárbaras e reservadas. A verdade, porém, é que as tradições dos pobres são, muito simplesmente, as tradições da humanidade, coisa que muitos de nós não vemos há bastante tempo. Por exemplo, os operários têm a tradição de usar uma linguagem grosseira quando se fala de coisas vis; desse modo, a pessoa tem menos probabilidades de ser levada a desculpá-las. Mas a humanidade também tinha esta tradição, até os puritanos e os filhos deles – os admiradores de Ibsen – darem início à ideia contrária: que o que se diz não é importante, desde que se o diga com palavras caras e ar sério. Outro exemplo: os membros das classes cultas consideram que é tabu brincar com a aparência física; deste modo, transformaram em tabu, não só o humor dos bairros mais pobres, como mais de metade da literatura saudável do mundo, tapando discretamente narizes como os de Punch e Bardolph, Stiggins e Cyrano de Bergerac. Outro ainda: os membros das classes cultas adoptaram o hediondo costume pagão de considerarem que a morte é uma coisa horrível demais para se falar nela, pelo que a morte se tornou um segredo pessoal, uma espécie de malformação que só o próprio conhece. Pelo contrário, os pobres reagem ao luto com grandes conversas e manifestações emocionais; e têm razão. Os pobres funcionam com base na verdade psicológica que fundamenta os usos funerários dos filhos dos homens: que a melhor maneira de fazer diminuir a dor é falar imenso sobre ela. A melhor maneira de passar por uma crise dolorosa é insistir muito no facto de se tratar de uma crise; é permitir que as pessoas que estão tristes pelo menos se sintam importantes. Neste aspecto, os pobres mais não são do que os sacerdotes da civilização universal; e perpassa pelas suas festas convencionais e pelas suas conversas solenes o odor das carnes assadas de Hamlet e a poeira e o eco dos jogos funerários de Pátroclo.
As coisas que os filantropos têm dificuldade em desculpar (ou não desculpam mesmo) na vida das classes trabalhadoras são, muito simplesmente, as coisas que nós temos de desculpar nos grandes monumentos do homem. Pode ser que o operário seja grosseiro como Shakespeare ou loquaz como Homero; que, sendo religioso, fale do inferno quase tanto como Dante; que, sendo mundano, fale da bebida quase tanto como Dickens. E não faltará fundamentação histórica ao pobre homem que não tem em grande conta as abluções cerimoniais que Cristo rejeitou, e dá bastante mais importância à bebida cerimonial que Cristo santificou especificamente. A única diferença entre o pobre do nosso tempo e os santos e heróis da história é a diferença que em todas as classes separa o homem comum que sente do homem superior que sabe exprimir os sentimentos. Aquilo que ele sente é apenas o património do homem. Como é evidente, ninguém espera que os taxistas e os estivadores proporcionem pessoalmente aos filhos uma instrução completa, mas também ninguém espera que os fidalgos rurais, os coronéis e os importadores de chá proporcionem pessoalmente aos filhos uma instrução completa. Tem de haver especialistas em educação in loco parentis. Acontece porém que os mestres das escolas privadas estão in loco parentis, enquanto os das escolas públicas estão mais contra parentem. As vagas opiniões políticas do fidalgo rural, as vagas virtudes do coronel, a alma e as ânsias espirituais do importador de chá são, na prática, transmitidas aos filhos destas pessoas nas escolas privadas de Inglaterra. Mas desejo fazer aqui uma pergunta muito simples e enfática. Alguém é capaz de fingir sequer que aponta uma maneira de as virtudes e tradições especiais dos pobres serem reproduzidas na educação dos pobres? Não pretendo que a ironia do vendedor ambulante tenha na escola o mesmo atractivo grosseiro que tem no pub; mas está sequer presente? A criança é ensinada a apreciar a admirável boa disposição e o calão do pai? Não pretendo que a patética e ansiosa pietas da mãe, expressa nas suas vestes funerárias e nas refeições que prepara para esses dias, seja imitada com precisão no sistema educativo; mas tem alguma influência no sistema educativo? Algum director de escola pensa sequer neste assunto? Não espero que o professor tenha o mesmo ódio aos hospitais que tem o pai do rapaz; mas tem algum? Tem a menor simpatia pelo facto de os pobres fazerem ponto de honra contra as instituições oficiais? Não é verdade que o vulgar professor da escola pública acha natural, acha mesmo aconselhável erradicar todas estas lendas dissonantes de um povo laborioso, e pregar o sabão e o socialismo contra a cerveja e a liberdade? Nas classes baixas, os professores não trabalham para os pais, mas contra os pais. A educação moderna consiste em transmitir os hábitos da minoria, e em eliminar os hábitos da maioria. Aos pobres foi imposto, em lugar da sua caridade cristã, do seu humor shakespeareano e da sua elevada reverência homérica pelos mortos, simples cópias pedantes dos preconceitos dos longínquos ricos. Eles têm de achar que uma casa de banho é uma necessidade porque é um luxo para os afortunados; eles têm de usar tacos suecos porque os ricos têm medo das mocas inglesas; e têm de ignorar o preconceito que os impede de comerem à custa da paróquia porque os aristocratas não têm vergonha nenhuma de comer à custa da nação.
XIV
LOUCURAS VÁRIAS E A EDUCAÇÃO
DAS MULHERES
O mesmo se passa no caso das raparigas. É frequente perguntarem-me, com ar solene, que opinião tenho das novas ideias sobre a educação das mulheres. Mas as ideias sobre a educação das mulheres não são novas. Não há, nem nunca houve, o menor vestígio de uma ideia nova neste domínio. Os reformadores da educação limitaram-se a perguntar o que se estava a fazer aos rapazes e foram fazê-lo às raparigas; da mesma maneira que perguntaram o que se estava a ensinar aos filhos dos fidalgos rurais e foram ensinar o mesmo aos filhos dos limpa-chaminés. Aquilo a que chamamos ideias novas são ideias muito antigas fora de sítio. Se os rapazes jogam futebol, porque não hão-de as raparigas jogar futebol; se os rapazes têm as cores da escola, porque não hão-de as raparigas ter cores da escola; se os rapazes andam nas escolas de bairro, porque não hão-de as raparigas andar nas escolas de bairro; se os rapazes vão para Oxford, porque não hão-de as raparigas ir para Oxford – em suma, se os rapazes deixam crescer o bigode, porque não hão-de as raparigas deixar crescer o bigode – e é a isso que chamam ideias novas. Não houve reflexão nenhuma sobre o assunto; ninguém procurou saber o que é o sexo, se altera isto ou aquilo, e porquê, como ninguém procurou introduzir qualquer componente do sentido de humor e das emoções do povo na educação popular. Estamos perante um simples caso de tenaz, elaborada e elefantina imitação. E, tal como no caso do ensino elementar, também aqui deparamos com uma fria e temerária inadequação. Qualquer selvagem percebia que, pelo menos nas coisas físicas, há algumas que são boas para os homens, mas que é muito provável que sejam más para as mulheres. E contudo, não há brincadeira de rapazes, por mais brutal que seja, que estes lunáticos não tenham promovido entre as raparigas. Para dar um exemplo ainda mais relevante, marcam às raparigas trabalhos de casa extensíssimos, sem se lembrarem de que as raparigas já têm muito trabalho que fazer em casa. Tudo isto faz parte da mesma atitude de subjugação imbecil; temos de pôr um colarinho apertado à volta do pescoço de uma mulher porque há um colarinho semelhante a incomodar o pescoço de um homem. A verdade é que um servo da gleba saxónico a quem pusessem uma coleira de cartão havia de pedir que lhe devolvessem a coleira de bronze.
E há quem responda a isto, não sem uma expressão de desdém: «Então o que preferia? Preferia regressar à elegante mulher vitoriana, de aneizinhos e frasco de sais, que produz umas aguarelas, fala um bocadinho de italiano, toca umas coisas na harpa, escreve os seus álbuns sem interesse e pinta umas telas sem interesse? É isso que prefere?» Ao que eu respondo: «Sem dúvida nenhuma!» Prefiro esse estado de coisas à nova educação feminina por uma simples razão: porque no primeiro encontro um desígnio intelectual, e na segunda não encontro desígnio nenhum. Não tenho certeza nenhuma de que, mesmo em termos práticos, essa mulher elegante não estivesse mais do que ao nível da maioria das mulheres deselegantes. Tenho a impressão de que Jane Austen era uma mulher mais forte, mais cortante e mais inteligente que Charlotte Brontë; e tenho a certeza de que era mais forte, mais cortante e mais inteligente que George Eliot. Jane Austen era capaz de fazer uma coisa de que nenhuma das outras duas era capaz: descrever um homem de forma sensata e distanciada. Não tenho a certeza de que a grande dama de antigamente, que apenas sabia balbuciar italiano, não fosse mais vigorosa que a grande dama de agora, que apenas sabe balbuciar americano; nem tenho a certeza de que as duquesas de outros tempos, que não tinham grande êxito quando pintavam Melrose Abbey, fossem muito mais tolas que as modernas duquesas que só pintam a cara, e nem isso fazem bem. Mas a questão não é essa. Qual era a teoria, qual era a ideia que estava por trás das aguarelas e do trémulo italiano de outros tempos? Era a mesma ideia que, a um nível mais rude, se expressava em vinhos feitos em casa e em receitas hereditárias; e que continua presente, de mil maneiras diferentes, nas mulheres dos pobres. Era a ideia que propus na segunda parte deste livro: que tem de haver neste mundo um grande amador, porque de outra maneira tornamo-nos todos artistas e desaparecemos. Alguém tem de renunciar às conquistas dos especialistas para poder conquistar os conquistadores. Quem quer ser uma rainha da vida, não pode ser um soldado na mesma vida. Não me parece que as mulheres elegantes que falavam mal italiano fossem produtos perfeitos, como não me parece que as mulheres dos bairros pobres que bebem gin nos funerais sejam produtos perfeitos; infelizmente, há poucos produtos que o sejam. Mas elas resultam de uma ideia compreensível; e a nova mulher não resulta de nada nem vem de lado nenhum. É óptimo ter ideais, é óptimo ter o ideal adequado, e estas têm o ideal adequado. As mães dos bairros pobres, com os seus funerais tão próprios, são filhas degeneradas de Antígona, a obstinada sacerdotisa dos deuses domésticos. As damas que falavam mal italiano eram primas decadentes em décimo grau de Portia, a grandiosa dama italiana, a amadora do Renascimento, que podia ser advogada, porque podia ser fosse o que fosse. Afundados e abandonados no mar da monotonia e da imitação modernas, os tipos mantêm-se fiéis às respectivas verdades originais. Antígona – feia, suja e frequentemente embriagada – continua a sepultar o pai. A mulher elegante, insípida e prestes a diluir-se em nada, continua a ter uma vaga sensação da fundamental diferença que há entre ela e o marido: que ele tem de ser Alguém nos negócios, para ela poder ser tudo no país.
Houve uma altura em que o leitor, eu, e todos nós, estávamos muito perto de Deus; de tal maneira que ainda agora a cor de um seixo (ou de um quando), o perfume de uma flor (ou de um fogo de artifício), nos toca o coração com uma espécie de autoridade e certeza; como se se tratasse de fragmentos de uma mensagem confusa ou de feições de um rosto esquecido. Derramar essa simplicidade inflamada sobre o conjunto da vida é o único objectivo sério da educação; e quem está mais perto da criança é a mulher, porque a mulher compreende. Dizer o que ela compreende ultrapassa-me; a não ser que não se trata de uma solenidade. Trata-se de uma imponente leveza, de um tumultuoso amadorismo do universo, como o que sentíamos quando éramos muito pequenos e saltitávamos da música para a jardinagem, da pintura para as corridas. Ter noções vagas das línguas dos homens e dos anjos, chapinhar nas terríveis ciências, brincar com pilares e pirâmides e atirar os planetas ao ar como se fossem bolas – nisto consiste aquela audácia e indiferença interior que a alma humana, qual malabarista que larga e apanha laranjas, tem de manter viva para sempre. Nisto consiste aquela coisa estupidamente frívola a que chamamos sanidade. E a dama elegante, que inclinava os anéis por sobre as aguarelas, sabia perfeitamente que assim é, e agia em conformidade. Esta dama lançava ao ar frenéticos e flamejantes sóis. Ela mantinha o ousado equilíbrio das coisas inferiores, que é a mais misteriosa e talvez a mais inatingível das coisas superiores. Esta dama conservava a verdade primordial acerca da mulher, acerca da mãe universal: que se temos de fazer determinada coisa, então que a façamos mal feita.
V PARTE
O LAR DO HOMEM
I
O IMPÉRIO DO INSECTO
Um amigo meu, conservador e homem culto, mostrou-se certa vez muito perturbado porque, num momento de euforia, eu observei que Edmund Burke era ateu. Nem vale a pena salientar que a observação era desprovida de precisão biográfica; o objectivo era esse. É claro que Burke não era ateu nenhum na sua teoria cósmica, embora não tivesse uma especial e flamejante fé em Deus, como Robespierre. Mas a observação fazia referência a uma verdade que é aqui relevante repetir. Refiro-me a facto de, na disputa acerca da Revolução Francesa, Burke ter defendido a atitude e a argumentação ateia, enquanto Robespierre defendia a teísta. A Revolução apelava à ideia de uma justiça abstracta e eterna, que se sobrepusesse aos costumes e às conveniências locais. Se há mandamentos de Deus, também tem de haver direitos do homem. E foi aqui que Burke produziu a sua brilhante diversão; em vez de atacar a doutrina de Robespierre com a velha doutrina medieval do jus divinum (que, tal como a doutrina de Robespierre, era teísta), atacou-a com o argumento moderno da relatividade científica, ou seja, o argumento da evolução. Sugeriu ele que a humanidade se apresentava em toda a parte moldada e adaptada ao seu meio e às suas instituições; em suma, e na prática, que cada povo tinha, não apenas o tirano que merecia, mas o tirano que devia ter. «Nada sei sobre os direitos do homem», dizia, «mas sei alguma coisa sobre os direitos dos ingleses.» E aqui tem o leitor o ateu essencial. O argumento de Burke é que nós somos especialmente protegidos pelos acidentes e o crescimento natural; e porque havemos de nos pôr a pensar para além disso, isto é, como se fôssemos imagens de Deus? Nascemos sujeitos a uma Câmara dos Lordes como os pássaros sob uma casa de folhas; vivemos sujeitos a uma monarquia como os negros vivem sob o sol tropical; não é por sua culpa que eles são escravos, nem por nossa culpa que nós somos snobes. E assim, muito antes de Darwin ter desferido o seu enorme golpe à democracia, o essencial do argumento darwiniano já tinha sido lançado contra a Revolução Francesa. O homem, dizia Burke no fundo, tem de se adaptar a todas as coisas, como os animais; não pode tentar alterar seja o que for, como os anjos. O derradeiro grito do belo e piedoso optimismo e deísmo semi-artificial do século XVIII surgiu pela voz de Sterne, que dizia: «Deus manda o vento conforme a lã da ovelha». E Burke, o evolucionista de ferro, respondia: «Não; Deus manda a lã à ovelha conforme o vento». É a ovelha que tem de se adaptar. Que o mesmo é dizer que, ou morre, ou se transforma num tipo específico de ovelha que gosta de correntes de ar.
O instinto popular que subconscientemente se opõe ao darwinismo não se limitava a sentir-se ofendido com a grotesca ideia de ir visitar o avô a uma jaula do jardim zoológico. Os homens apreciam o álcool, as partidas, e muitas outras coisas grotescas; não os incomoda especialmente fazer figura de animais, e não se incomodariam especialmente em fazer dos avós animais. O verdadeiro instinto era bastante mais profundo e relevante, e era o seguinte: a partir do momento em que se começa a considerar que o homem é uma coisa mutável e alterável, os fortes e habilidosos têm grande facilidade em lhe dar a volta, conferindo-lhe novas formas com objectivos antinaturais. O instinto popular vê nesses desenvolvimentos a possibilidade de as costas serem curvadas e os membros retorcidos, a fim de carregarem com os fardos dos tais fortes e habilidosos. Este instinto supõe – e trata-se de uma suposição com fundamento – que aquilo que é feito de forma rápida e sistemática é feito essencialmente por uma classe de homens bem sucedidos, e quase exclusivamente no interesse destes. Tem portanto uma visão dos híbridos inumanos e das experiências semi-humanas muito ao estilo de A ilha do Dr. Moreau, do Sr. Wells. Os ricos podem conquistar a possibilidade de criar uma tribo de anões para os usarem como jóqueis, e uma tribo de gigantes para deles fazerem porteiros de suas casas. Os moços de estrebaria nasciam de pernas arqueadas e os alfaiates de pernas cruzadas; os perfumistas tinham o nariz largo e comprido e andavam agachados, quais cães atrás de um cheiro; e os escanções tinham estampada no rosto, logo à nascença, a horrível expressão dos provadores de vinho. Por muito absurda que seja a imagem utilizada, não estará à altura do pânico decorrente da fantasia humana, a partir do momento em que se supõe que o tipo fixo a que se chama homem pode ser alterado. Se um milionário precisasse de um porteiro com muitos braços, criava-se um homem polvo com dez braços; se quisesse um moço de recados com muitas pernas, criava-se um rapaz centopeia com uma centena de pernas. Não é difícil entrever tais formas perversas e monstruosas no espelho distorcido das hipóteses – ou seja, do desconhecido: homens reduzidos a olhos, ou a dedos, homens que fossem apenas uma narina, ou um ouvido. É esse o pesadelo com que nos ameaça a simples noção de adaptação. E esse pesadelo não está muito longe da realidade.
Dir-se-á que nem o mais radical defensor do evolucionismo deseja que nos tornemos inumanos ou cópias de algum animal. Peço muita desculpa, mas é exactamente isso que promovem os defensores do evolucionismo, e não precisamos de avançar para os mais radicais, podemos ficar-nos pelos mais suaves. Surgiu recentemente um importante culto que se arrisca a ser a religião do futuro – ou seja, a religião das poucas pessoas fracas de espírito que viverão no futuro. É típico do nosso tempo ter de ir à procura dos seus deuses no fundo de uma lente de microscópio; e o nosso tempo é marcado por um manifesto culto dos insectos. À semelhança da maioria das coisas a que chamamos novas, também esta ideia é, evidentemente, tudo menos nova; só é nova enquanto idolatria. Virgílio leva as abelhas a sério, mas duvido muito de que cuidasse delas com o mesmo cuidado com que escreve sobre elas. O rei sensato ordenou ao preguiçoso que observasse a formiga, o que constitui uma ocupação maravilhosa – para um preguiçoso. Já no nosso tempo, porém, surgiu um tom muito diferente, e mais do que um homem importante do nosso tempo, para além de uma série de homens inteligentes, sugeriram que é razoável que estudemos os insectos porque somos inferiores a eles. Os moralistas da Antiguidade limitavam-se a pegar nas virtudes humanas e a distribuí-las decorativa e arbitrariamente pelos animais. A formiga era um símbolo quase heráldico da diligência, o leão da coragem e o pelicano da caridade. Mas, se se persuadissem de que o leão afinal não era corajoso, os medievais deixavam cair o leão e ficavam com a coragem; e, se chegassem à conclusão de que o pelicano não era caridoso, pois tanto pior para o pelicano. Ou seja, os moralistas da Antiguidade permitiam que a formiga aplicasse e tipificasse a moralidade humana; mas nunca permitiriam que a pusesse em causa. Apontavam a formiga como símbolo da diligência e a cotovia como símbolo da pontualidade; erguiam os olhos para as aves em movimento e baixavam os olhos para os insectos rastejantes em busca de uma lição singela. Mas nós chegámos ao ponto de criar uma seita que não baixa os olhos para os insectos, antes olha os insectos de baixo para cima, que nos exige, basicamente, que verguemos a cabeça e prestemos culto aos escaravelhos, como faziam os egípcios da Antiguidade.
Maurice Maeterlinck é indubitavelmente um homem de génio, e o génio anda sempre com uma lupa atrás. Por detrás do terrível cristal da lente desta lupa, as abelhas não nos parecem um pequeno enxame amarelo, mas um exército dourado, e um conjunto de hierarquias de guerreiros e rainhas. A imaginação está constantemente à espreita, percorrendo sinuosamente as avenidas e os panoramas dos tubos da ciência, e o observador sente as múltiplas e frenéticas inversões de proporção: a bicha-cadela que avança planície fora qual elefante, o gafanhoto que dá um pulo exuberante por sobre os telhados do nosso bairro qual imenso aeroplano, saltitando de um extremo ao outro do país. A pessoa tem a sensação de entrar em sonhos num enorme templo de entomologia, cuja arquitectura tem por base algo mais desenfreado que os braços e a espinha dorsal; cujas colunas estreadas têm a aparência semi-rastejante de imprecisas e monstruosas lagartas; cuja cúpula é uma aranha em forma de estrela, horrivelmente suspensa do vazio. Há uma obra da engenharia moderna que nos permite ter um pouco a sensação deste obscuro terror dos exageros do submundo; refiro-me à curiosa arquitectura em curva das linhas subterrâneas do metropolitano. Aqueles arcos atarracados, desprovidos de linhas e pilares direitos, parecem ter sido abertos por vermes gigantescos que nunca aprenderam a erguer a cabeça. Trata-se do verdadeiro palácio subterrâneo da Serpente, de um espírito de forma e de cor mutáveis que é inimigo do homem.
Mas não foi só por via de tão estranhas sugestões estéticas que autores como Maeterlinck nos influenciaram nesta matéria; a questão tem também um lado ético. Com efeito, o pano de fundo do livro do Sr. Maeterlinck sobre as abelhas é um sentimento de admiração, podemos mesmo chamar-lhe inveja pela espiritualidade colectiva destes animais, pelo facto de eles viverem exclusivamente em função de uma coisa a que o autor chama a Alma da Colmeia. E esta admiração pela moralidade comunitária dos insectos está presente em muitos outros autores modernos de várias origens e formas; como por exemplo, no apelo do Sr. Benjamin Kidd72 a que vivamos apenas em função do futuro evolutivo da nossa raça, e no enorme interesse de alguns socialistas pelas formigas, que geralmente preferem às abelhas, presumo que por serem menos coloridas. Um dos aspectos mais notórios desta vaga insectolatria são os rios de louvores investidos pelos modernos nessa enérgica nação do Extremo Oriente da qual se disse já que «tem o patriotismo como única religião»; por outras palavras, que vive apenas em função da Alma da Colmeia. Nos períodos – separados por longos intervalos de séculos – em que o cristianismo enfraquecia, tornando-se mórbido e céptico, e em que a misteriosa Ásia fazia avançar as suas indistintas populações na nossa direcção, empurrando-as para Ocidente qual negro movimento de matéria, nessas alturas, a invasão era comparada a uma praga de piolhos ou a um persistente exército de gafanhotos. Com efeito, os exércitos do Oriente assemelham-se aos insectos; na sua destrutividade cega e operativa, no escuro niilismo da sua aparência, na sua odiosa indiferença à vida e ao amor individuais, na sua confiança de fundo no número dos seus homens, na sua coragem pessimista e no seu patriotismo ateu, os guerreiros do Oriente parecem-se bastante com as criaturas rastejantes deste mundo. Mas nunca um cristão designou um turco por gafanhoto, dando à designação um tom elogioso. O que se passa agora é que, pela primeira vez na história, para além de os temermos, os veneramos; e seguimos com adoração aquela forma enorme que sai da Ásia e avança, vasta e vaga, em direcção a nós, dificilmente discernível por entre as místicas nuvens de criaturas aladas que sobrevoam as terras desérticas, aglomerando-se nos céus como um trovão e descolorindo os céus como a chuva; Belzebu, o Senhor das Moscas.
Quando nós, os cristãos, recusamos esta teoria horrível da Alma da Colmeia, não o fazemos apenas por nós, mas em defesa de toda a humanidade; em defesa dessa ideia essencial, e tão humana, de que um homem bom e feliz é um fim em si mesmo, uma alma que vale a pena salvar. Para os que apreciam tais fantasias biológicas, podemos mesmo dizer que somos os chefes e os campeões de toda uma secção da natureza, príncipes de uma casa que tem como espinha dorsal o conhecimento, defensores do leite da mãe individual e da coragem da cria que se torna independente, representantes do patético cavalheirismo do cão, do humor e da perversidade dos gatos, do afecto do cavalo tranquilo, da solidão do leão. Mas é ainda mais pertinente salientar que esta simples glorificação da sociedade tal como se manifesta nos insectos sociais constitui uma transformação e uma dissolução de um dos contornos que sempre foram símbolos do homem. No meio da nuvem e na confusão das moscas e das abelhas, a ideia da família humana está a tornar-se cada vez mais imprecisa, a ponto de quase desaparecer. A colmeia tornou-se maior que a casa, as abelhas começam a destruir os seus captores; as lagartas comeram o que restava aos gafanhotos; e a casinha e o jardim do nosso amigo Jones está em vias de extinção.
II
A FALÁCIA DO BENGALEIRO
Quando Lord Morley comentou que a Câmara dos Lordes, ou se emenda, ou acaba, gerou uma certa confusão; porque dá a impressão de que emendar-se e acabar são coisas de certo modo semelhantes. Gostaria de insistir especialmente no facto de que emendar e acabar são coisas contrárias. Emendamos uma coisa porque gostamos dela; acabamos com uma coisa porque não gostamos dela. Emendar é reforçar. Por exemplo, eu não gosto de oligarquias; por isso, estou tão interessado em emendar a Câmara dos Lordes como em emendar um instrumento de tortura. Por outro lado, gosto muito da família; por isso, estou tão interessado em emendar a família como em emendar uma cadeira; e não nego, um instante que seja, que a família moderna é uma cadeira que precisa de emenda. Mas é aqui que entra o problema essencial da maioria dos modernos sociólogos progressistas. Temos duas instituições que sempre foram fundamentais para a humanidade, a família e o Estado. Os anarquistas, julgo eu, não apreciam nenhuma delas. É injusto dizer que os socialistas apreciam o Estado mas não a família; há milhares de socialistas que têm mais apreço pela família que qualquer conservador. Mas é verdade que, se os anarquistas querem acabar com um e outra, os socialistas estão especialmente interessados em emendar (ou seja, em reforçar e renovar) o Estado; e não estão especialmente interessados em reforçar e renovar a família. Não se esforçam minimamente por definir as funções do pai, da mãe e dos filhos, enquanto tais; por apertar os parafusos soltos da máquina; por acentuar de novo os contornos do desenho, que entretanto se foram apagando. Mas estão a fazê-lo com o Estado; estão a aperfeiçoar-lhe a engrenagem, a acentuar-lhe as linhas dogmáticas, a tornar o governo mais forte em todas as suas dimensões, e nalgumas delas mais rigoroso do que era. Deixando a casa cair em ruínas, estão a remodelar a colmeia, nomeadamente os ferrões. Na verdade, há certos aspectos das leis laborais e de pobreza recentemente propostas por conhecidos socialistas que não fazem do que sujeitar um número crescente de pessoas ao poder despótico do Sr. Bumble73. Parece que o progresso significa ser empurrado para a frente – pela polícia.
Aquilo que pretendo afirmar é o seguinte: os socialistas e a maioria dos reformadores sociais dessa cor têm uma consciência muito nítida da linha que separa o tipo de coisas que dizem respeito ao Estado do tipo de coisas que dizem respeito ao mero caos ou à natureza incoercível; podem obrigar as crianças a ir para a escola antes do nascer do sol, mas não empreendem obrigar o sol a nascer; não se dedicam, como Canuto, a proibir o mar, mas proíbem os banhos de mar. Dentro dos contornos do Estado, porém, as linhas baralham-se e as entidades confundem-se umas com as outras. Estes homens não dispõem de um instinto firme que lhes permita distinguir as coisas que são, pela sua própria natureza, privadas das que são públicas; as coisas que são necessariamente presas das que são livres. É por isso que, a pouco e pouco e de forma quase silenciosa, o cidadão vai sendo privado das suas liberdades pessoais, como foi silenciosamente privado das suas terras desde o século XVI.
Para explicar rapidamente o que quero dizer terei de recorrer a uma comparação pouco elaborada. Um socialista é um homem que acha que uma bengala se parece com um guarda-chuva porque ambos são arrumados no bengaleiro. E contudo, uma bengala e um guarda-chuva são tão diferentes uma do outro como um machado de batalha e uma calçadeira. Os aspectos essenciais do guarda-chuva são a amplitude e a protecção; os aspectos essenciais da bengala são a estreiteza e, em parte, o ataque. A bengala é uma espada, enquanto o guarda-chuva é um escudo, mas um escudo contra um inimigo diferente e difícil de nomear – o universo hostil, mas anónimo. Assim, pois, o guarda-chuva é, mais propriamente, o telhado; é uma espécie de casa desmontável. Mas a diferença vital é ainda mais profunda, e separa dois domínios do espírito do homem, com um abismo entre eles. A questão é a seguinte: o guarda-chuva é um escudo contra um inimigo tão real, que é um simples incómodo; enquanto a bengala é uma espada contra inimigos tão imaginários, que são um puro prazer. A bengala não é apenas uma espada, é uma espada de salão; é uma coisa que só é brandida de forma cerimonial. A única maneira de expressar esta emoção é afirmando que um homem se sente mais homem com uma bengala na mão, tal como se sente mais homem com uma espada à cinta. Mas nunca ninguém teve sentimentos grandiosos sobre um guarda-chuva; o guarda-chuva é um objecto de conveniência, como os tapetes. Um guarda-chuva é um mal necessário. Uma bengala é um bem perfeitamente desnecessário. E parece-me que esta é a verdadeira razão pela qual as pessoas estão sempre a perder o guarda-chuva; nunca se ouviu falar de pessoas que perdessem a bengala. Porque uma bengala é um prazer, e um objecto que realmente pertence à pessoa; é um objecto que faz falta mesmo quando não é necessário. Se a minha mão direita se esquecer da bengala, esqueça-se também das suas competências. Mas qualquer pessoa se pode esquecer do guarda-chuva, como se esquece de um telheiro sob o qual se abrigou da chuva. Qualquer pessoa se pode esquecer das coisas necessárias.
Se me permitem continuar com esta figura de estilo, direi brevemente que o erro colectivista consiste em afirmar que, do facto de dois homens poderem partilhar um guarda-chuva, se segue que dois homens podem partilhar uma bengala. Os guarda-chuvas podiam perfeitamente ser substituídos por uma espécie de toldos, que protegessem determinadas ruas de certos aguaceiros. Mas a ideia de fazer girar uma bengala comunitária é um perfeito disparate; é o mesmo que alisar um bigode comunitário. Dir-se-á que isto é uma fantasia e que sociólogo nenhum sugere tais disparates. Peço desculpa, mas sugerem. Posso dar um exemplo que reflecte na perfeição o caso da confusão das bengalas com os guarda-chuvas, um paralelo que tem origem numa sugestão de reforma perpetuamente reiterada. Pelo menos sessenta em cada cem socialistas, depois de terem falado de lavandarias comuns, passam logo a seguir às cozinhas comuns. Ora, esta passagem é tão mecânica e absurda como o caso fantasioso que referi. Quer as bengalas, quer os guarda-chuvas são hastes rígidas que se arrumam em bengaleiros. Quer as cozinhas, quer as lavandarias são compartimentos de grandes dimensões cheios de calor, humidade e vapor de água. Mas a alma e a função das duas coisas são inteiramente distintas. Há só uma maneira de lavar uma camisa – isto é, há só uma maneira de a lavar como deve ser. Não há gosto nem preferência por camisas esfarrapadas. Mulher nenhuma observa: «O meu marido gosta de uma camisa com cinco buracos, mas cá para mim quatro buracos é que são.» Homem nenhum comenta: «Esta lavadeira dá-me cabo da perna esquerda dos pijamas; ora, do que eu realmente gosto é que me rasguem a perna direita.» A lavadeira ideal é, muito simplesmente, aquela que entrega a roupa lavada. Mas a cozinheira ideal não é, nem por sombras, aquela que muito simplesmente entrega a comida cozinhada. A cozinha é uma arte, que pressupõe personalidade, e até perversidade, porque uma arte é uma actividade que tem de ser pessoal e pode ser perversa. Conheço um homem, que em geral não é esquisito, mas que não consegue tocar numa salsicha se não estiver quase em carvão. Este homem gosta das salsichas a desfazer-se, mas não gosta das camisas a desfazer-se. Não quero com isto dizer que estes pontos de delicadeza culinária tenham enorme importância. Nem pretendo dizer que o ideal comunitário deva ceder perante eles. Mas afirmo que o ideal comunitário não tem consciência da sua existência, pelo que se engana logo à partida, pelo facto de misturar uma coisa que é totalmente pública com uma coisa que é altamente individual. Talvez devamos admitir as cozinhas comunitárias num contexto de crise social, da mesma maneira que devemos aceitar comer carne de gato num contexto de guerra. Mas o socialista culto, que vive descontraidamente e não se encontra em contexto de guerra, fala das cozinhas comunitárias como se fossem o mesmo género de coisa que as lavandarias comunitárias. O que mostra, logo à partida, que não compreende a natureza humana. Uma coisa são três homens a cantar a mesma coisa em coro, outra coisa são três homens a tocar três músicas diferentes ao mesmo piano.
III
O TREMENDO DEVER DE TINO
Na controvérsia entre o progressista enérgico e o conservador obstinado (ou, em termos mais simpáticos, entre Pino e Tino) a que atrás fizemos referência, os mal-entendidos são actualmente muito marcados. Os conservadores afirmam que desejam preservar a vida de família nos bairros populares, ao que os socialistas respondem, e com razão, que neste momento não há vida de família a preservar nesses bairros. Por sua vez, Pino, o socialista, mostra-se bastante vago e misterioso relativamente à possibilidade de preservar a vida de família, caso ela exista; ou de a restaurar, caso ela tenha desaparecido. É tudo muito confuso. Os conservadores parecem querer acentuar os laços domésticos que não existem; enquanto os socialistas querem afrouxar os laços que não ligam ninguém. E a questão que todos nós queremos colocar a ambos é a questão ideal original: «Mas afinal, querem ou não manter a família?» Se Pino, o socialista, quer manter a família, tem de estar disposto a aplicar as naturais restrições, distinções e divisões de trabalho existentes no seio da família; tem de se preparar para aceitar a ideia de que a mulher tenha preferência pela sua casa e o homem pelo pub. Tem de conseguir suportar a ideia de que a mulher seja feminina, o que não significa ser suave e condescendente, mas que ser habilidosa, poupada, muito rigorosa e cheia de sentido de humor. E tem ainda de se confrontar sem hesitações com a ideia de uma criança que seja infantil, isto é, cheia de energia, mas desprovida da noção de independência; que esteja tão desejosa de autoridade, como de informação e pirolitos. Quando um homem, uma mulher e uma criança vivem juntos, no quadro de uma família livre e soberana, estas relações acabam por ocorrer; e Pino terá de as aceitar. A única maneira de evitar este quadro é destruindo a família, obrigando ambos os sexos a constituir-se em colmeias e hordas assexuadas, e educando as crianças como filhas do Estado – como aconteceu a Oliver Twist. Contudo, se é necessário dirigir estas palavras inflexíveis a Pino, Tino também não escapa a uma admoestação severa. Porque a dura verdade que um conservador tem de ouvir é a seguinte: se quer que a família continue a existir, se quer que a família disponha de uma energia que lhe permita resistir às forças de destruição impostas pela presente actividade comercial, que é essencialmente selvagem, tem de fazer alguns sacrifícios e de tentar nivelar a propriedade. Neste momento, os ingleses são, na sua maioria esmagadora, excessivamente pobres para poderem ser domésticos. São o mais domésticos que conseguem; são muito mais domésticos que a classe governativa; mas não conseguem usufruir do bem que estava originalmente previsto para esta instituição, pelo simples facto de que não têm dinheiro que chegue. O homem tem de ter uma certa magnanimidade, que se exprime no acto de esbanjar dinheiro; mas se, em determinadas circunstâncias, só consegue fazê-lo esbanjando o que tem para comer nessa semana, deixa de ser magnânimo e passa a ser mesquinho. A mulher tem de ter uma certa sabedoria, que se exprime na adequada valorização das coisas e numa atitude de sensata poupança; mas como pode ela poupar, se não houver dinheiro para isso? O filho tem de olhar para a mãe como uma fonte de alegria natural e de poesia; mas como pode fazê-lo, se a fonte não tiver tempo para o lazer? Que hipóteses têm estas diferentes artes e funções de se manifestar numa casa que está virada às avessas; numa casa onde a mulher anda a trabalhar e o homem não; numa casa onde os filhos são obrigados pela lei a levar as exigências dos professores mais a sério que as da mãe? Não, Tino e os seus amigos da Câmara dos Lordes e do Carlton Club têm de decidir o que querem nesta matéria, e depressa. Se não se importam de ver o país transformado numa colmeia ou num formigueiro, decorado aqui e ali com umas quantas borboletas descoradas que brincam à domesticidade nos intervalos das sessões de divórcio no tribunal de família, então fiquem com o seu império de insectos; hão-de encontrar muitos socialistas que lho cedam. Mas se querem um país doméstico, têm de pagar por isso, e de pagar muito mais do que os radicais se têm atrevido a sugerir; têm de suportar fardos muito mais pesados do que o orçamento e golpes muito mais letais do que os direitos sucessórios; porque o que é necessário fazer é, nada mais, nada menos que a distribuição das grandes fortunas e das grandes propriedades. Neste momento, a única maneira de evitarmos o socialismo é por via de uma alteração tão ampla como o socialismo. Se queremos salvar a propriedade, temos de distribuir a propriedade, quase com a mesma profundidade e radicalidade com que o fez a Revolução Francesa. Se queremos preservar a família, temos de revolucionar a nação.
IV
UM ÚLTIMO EXEMPLO
E, agora que este livro está a chegar ao fim, proponho-me sussurrar a ouvido do leitor uma suspeita horrível que me tem perseguido: a suspeita de que, no fundo, Pino e Tino são cúmplices. De que a disputa que mantêm em público é apenas aparente, e de que não é por acaso que passam a vida a dar armas um ao outro. Tino, o plutocrata, quer instaurar um industrialismo anárquico; Pino, o idealista, presenteia-o com louvores líricos da anarquia. Tino promove a mão-de-obra feminina porque é mais barata; Pino chama ao trabalho da mulher «a liberdade de viver a própria vida». Tino quer operários firmes e obedientes; Pino prega a abstenção de álcool – para os operários, não para Tino. Tino quer uma população tímida e domesticada, que nunca pegue em armas contra a tirania; Pino demonstra, a partir de Tolstoi, que ninguém deve pegar em armas seja contra quem for. Tino é um cavalheiro naturalmente saudável e higiénico; Pino apregoa com seriedade a perfeição da higiene de Tino a pessoas que não têm hipótese de a praticar. Acima de tudo, Tino governa com um sistema grosseiro e cruel, que consiste em contratar, fazer trabalhar arduamente e despedir pessoas de ambos os sexos, sistema que é totalmente inconsistente com a promoção da família, e que pelo contrário conduz à destruição desta; por essa razão, Pino estende os braços ao universo e, com um sorriso profético nos lábios, faz-nos saber que em breve teremos ultrapassado gloriosamente a instituição familiar.
Não sei se a parceira de Pino e Tino é consciente ou inconsciente. Sei apenas que é devido à actividade conjunta destes dois seres que o homem comum continua privado da sua habitação natural. Sei apenas que continuo a encontrar Jones pelas ruas, ao crepúsculo, olhando com ar triste para os postes, as barreiras e as demoníacas lanternas vermelhas que continuam a guardar a entrada na casa que não deixou de ser sua, embora ele nunca lá tenha vivido.
V
CONCLUSÃO
Aqui termina o meu livro, e pode-se dizer que acaba onde devia começar. Afirmei que os resistentes centros da moderna propriedade inglesa têm de ser, mais lenta ou mais rapidamente, dissolvidos para que a ideia de propriedade possa continuar a existir neste país. Há duas maneiras de o fazer: por meio de uma fria administração imposta por funcionários distanciados – é o chamado colectivismo; ou por meio de uma distribuição pessoal, promovendo aquilo a que se chama o direito de propriedade dos camponeses. Parece-me que esta última solução é melhor e mais humana, porque faz de cada homem – como alguém criticava outra pessoa que o dizia acerca do papa – uma espécie de pequeno deus. Quando trabalha na sua própria terra, um homem tem o sabor da eternidade, o que significa que dará de si mais dez minutos que o necessário. Mas estou convencido de que, em vez de abrir a porta a este género de argumento, a fechei. Porque este livro não se destina a defender o direito de propriedade dos camponeses, mas a contrariar os sábios modernos, que transformam as reformas em rotina. Este livro é, do princípio ao fim, uma vigorosa e elaborada defesa de um facto puramente ético. E, para o caso de ainda haver leitores que não tenham percebido onde eu queria chegar, termino com uma parábola muito simples, que ainda por cima é verdade.
Aqui há pouco tempo, houve uns médicos e outras pessoas – a quem a lei moderna autoriza a ditar leis aos seus concidadãos menos abastados – que deram ordem para se cortar o cabelo às meninas pequenas; refiro-me obviamente às filhas dos pobres. Entre as filhas dos ricos vigoram muitos hábitos pouco saudáveis, mas os médicos hão-de levar muito tempo a dar-lhes ordens do mesmo teor. Ora, a justificação para esta intromissão específica era que os pobres são obrigados a viver em submundos de miséria tão fedorenta e sufocante, que não podem ter cabelo, porque acabam sempre por ter piolhos. Por esse motivo, os médicos decidiram abolir o cabelo. Dá a impressão de que nunca lhes passou pela cabeça abolir os piolhos. E no entanto, era uma coisa que se podia fazer. Como acontece na maior parte das discussões modernas, aquilo que não se refere é o elemento essencial da discussão. É óbvio para qualquer cristão (ou seja, para qualquer pessoa livre) que, se se aplica uma medida coerciva à filha de um cocheiro, se deve aplicar a mesma medida à filha de um ministro. Não perguntarei porque foi que os médicos não aplicaram esta regra às filhas dos ministros. E não perguntarei porque sei. Não lha aplicaram porque não se atreveram a tal. E qual é a desculpa que estes médicos usam, qual é a razão plausível que invocam para rapar o cabelo aos pobres e não aos ricos? A razão é que os pobres têm mais probabilidades de ter doenças no cabelo do que os ricos. E porquê? Porque os filhos dos pobres são obrigados (contrariando os mais básicos instintos das classes trabalhadoras, que são extremamente domésticas) a agrupar-se em grande número em salas fechadas, a fim de serem sujeitos ao sistema profundamente ineficaz da instrução pública; e porque, em quarenta crianças, uma delas pode ter piolhos. E porquê? Porque os pobres estão de tal maneira assoberbados com as enormes rendas que lhes são impostas pelos enormes senhorios, que em muitos casos as mulheres também têm de trabalhar. O que significa que não têm tempo para cuidar dos filhos, o que significa que um em quarenta anda sujo. E, porque há duas pessoas em cima do operário – o senhorio, que se lhe senta (literalmente) em cima da barriga, e o mestre-escola, que se lhe senta (literalmente) em cima da cabeça –, este tem de permitir que o cabelo das filhas seja, primeiro mal cuidado devido à pobreza, depois envenenado pela promiscuidade, e finalmente abolido por razões de higiene. Talvez ele tivesse orgulho no cabelo das filhas. Mas ele não conta.
E é com base neste simples princípio (ou melhor, precedente) que o sociólogo avança alegremente. Quando uma tirania de crápulas esmaga os homens e os enterra na lama, de tal maneira que até o cabelo se lhes cobre de lama, a resposta dos cientistas é muito clara. Cortar a cabeça aos tiranos seria um processo longo e laborioso; é mais fácil cortar o cabelo aos escravos. Da mesma maneira, se por acaso as crianças pobres começassem a gritar com dores de dentes, perturbando os mestres-escola e os cavalheiros artísticos, seria fácil arrancar os dentes aos pobres; se estes aparecessem com as unhas sujas, arrancava-se-lhes as unhas; e se assoassem o nariz de forma indecente, cortava-se-lhes o nariz. No final do processo, a aparência dos nossos concidadãos menos abastados ficaria bastante simplificada. Ora, nada disto é mais absurdo do que o simples facto de um médico poder entrar em casa de um homem livre, cuja filha pode ter o cabelo tão limpo como as flores na Primavera, e ordenar-lhe que o corte. Dá a impressão de que nunca passou pela cabeça destas pessoas que o problema dos piolhos dos bairros da lata não reside nos cabelos, mas nos bairros da lata. Os cabelos são, para dizer o mínimo, enraizados. Os inimigos do cabelo (tal como os outros insectos e os exércitos orientais dos quais já falámos) podem passar por nós, mas raramente o fazem. A bem dizer, é só através de instituições eternas como o cabelo que podemos testar instituições passageiras como os impérios. Se uma casa está construída de tal maneira, que corta a cabeça a um homem que lá entra, a casa está mal construída.
A multidão só consegue rebelar-se quando é conservadora; pelo menos o suficiente para ter conservado algumas das razões que levam à rebelião. A ideia mais assustadora desta nossa anarquia é que a maioria dos golpes que no passado foram infligidos em prol da liberdade não o seriam hoje, devido ao obscurecimento dos honestos costumes populares que lhes deram origem. O insulto que deu origem à martelada de Wat Tyler seria hoje considerado um simples exame médico.74 Aquele que repugnou Virgínio75, por lhe cheirar a condenação à escravatura, seria hoje encarado como um belo acto de amor livre. E a cruel chalaça de Foulon – «pois que comam erva»76 – seria vista pelos nossos contemporâneos como o grito de agonia de um vegetariano idealista. A grande tesoura da ciência que está pronta a eliminar os caracóis das crianças pobres está igualmente disposta a cortar todos os cantos e franjas das artes e das honras dos pobres. E não tardará muito a contorcer pescoços para caberem dentro de colarinhos lavados e a aparar pés para os adaptar a botas novas. Parece que nunca lhes ocorreu que o corpo vale mais que o vestuário; que o sábado foi feito para o homem; e que as instituições serão julgadas e condenadas por se terem adaptado, ou não, ao corpo e à alma do homem. O teste da sanidade política é não perder a cabeça. O teste da sanidade artística é não perder o cabelo.
Ora bem, a parábola e a finalidade destas últimas páginas – melhor dizendo, de todas estas páginas – é a seguinte: afirmar que temos de começar tudo de novo, e depressa, e que temos de começar na outra extremidade. E começo pelo cabelo das pequenitas, porque sei que é uma coisa boa. Há coisas que são perversas, mas o orgulho de uma mãe na beleza da sua filha é uma coisa boa. É uma daquelas ternuras absolutas, que são pedras de toque de todas as épocas e de todas as raças. Se há coisas que vão contra isto, são essas coisas que têm de ser destruídas. Se os senhorios, as leis, e as ciências vão contra isto, os senhorios, as leis e as ciências têm de ser destruídos. Ao ver o cabelo ruivo de uma miudita caído na sarjeta, eu pegarei fogo à civilização moderna. Porque as pequenas devem ter o cabelo comprido, e portanto devem tê-lo lavado; e porque devem ter o cabelo lavado, têm de ter uma casa limpa; e porque têm de ter uma casa limpa, têm de ter em casa uma mãe com tempo para a limpar; e porque têm de ter uma mãe com tempo livre, não podem ter um senhorio usurário; e porque não pode haver senhorios usurários, a propriedade tem de ser redistribuída; e porque a propriedade tem de ser redistribuída, tem de haver uma revolução. A pequenita de cabelo ruivo, que passou agora mesmo diante da minha porta, não pode ser amarrada, contraída e alterada; não lhe podem cortar o cabelo como fazem aos condenados; pelo contrário, os reinos da terra terão de ser retalhados e mutilados para lhe agradar. Ela é a imagem sagrada e humana; à volta dela, o tecido social há-de oscilar, há-de rasgar-se e há-de ser destruído; os pilares da sociedade hão-de ser abalados, as cúpulas dos tempos hão-de ser destruídas, mas nem um cabelo da sua cabeça será afectado.
TRÊS NOTAS
I
SOBRE O SUFRÁGIO FEMININO
Não tendo querido sobrecarregar este já longo ensaio com demasiados parêntesis, para além da tese do progresso e dos precedentes, junto-lhe agora três notas sobre pontos de pormenor que poderão ter sido mal entendidos.
A primeira diz respeito à controvérsia das mulheres. Pode parecer que recuso de forma excessivamente brusca a tese de que as mulheres devem ter direito de voto, mesmo que a maioria não o deseje. Há quem não se canse de recordar que os homens (por exemplo, os trabalhadores agrícolas) foram contemplados com o direito de voto quando só uma minoria era a favor do mesmo. O Sr. Galsworthy77, um dos poucos intelectos de relevo do nosso tempo, defendeu este ponto de vista em The Nation. E eu respondo, como aliás fiz ao longo deste livro, que a história não é uma pista de toboggan, mas uma via na qual se tem de reflectir e às vezes de inverter o curso. Se de facto obrigámos os trabalhadores livres a votar quando eles não tinham vontade nenhuma de o fazer, esse gesto foi absolutamente antidemocrático; e, se somos democratas, temos a obrigação de nos retratar dele. O que nós queremos respeitar é a vontade do povo, e não os votos do povo; dar a um homem o direito de voto contra a sua vontade é fazer do direito de voto uma coisa mais valiosa do que a democracia que esse direito exprime.
Mas esta analogia é falsa, por uma razão muito simples e muito específica. Porque há muitas mulheres que, não tendo direito a voto, consideram que votar é uma coisa pouco feminina. E não há muitos homens que, não tendo direito a voto, considerem que votar é uma coisa pouco masculina. Não há mesmo homem nenhum que, não tendo direito a voto, considere que votar é uma coisa pouco masculina. Nem numa ilha perdida, nem no meio de um pântano de águas estagnadas se encontra um labrego que seja, ou um vagabundo, que considere que a sua dignidade sexual é posta em causa pelo facto de pertencer a uma turbamulta de políticos. Se estes homens não queriam votar, era apenas porque não sabiam o que era votar; porque para eles votar tinha tanto significado como o bimetalismo. A oposição que manifestavam ao direito de voto, a existir, era meramente negativa. A indiferença que tinham pelo direito de voto era uma indiferença real.
Pelo contrário, o sentimento feminino contra esta actividade é positivo. Não se trata de um sentimento negativo, nem de um sentimento indiferente. As mulheres que se opõem a esta alteração consideram-na (bem ou mal) pouco feminina. Ou seja, consideram que se trata de um insulto a determinadas tradições afirmativas que lhes são caras. O leitor pode achar que se trata de uma atitude preconceituosa; mas eu nego veementemente que um democrata tenha o direito de passar por cima deste género de preconceitos, quando são populares e positivos. Assim, um democrata não tem o direito de obrigar milhões de muçulmanos a votar com uma cruz quando eles têm um preconceito a favor do voto com um crescente. E, a não ser que reconheçamos este ponto de vista, a democracia é uma farsa que não deve ser mantida. Se, porém, o reconhecermos, teremos de reconhecer igualmente que a tarefa das sufragistas não consiste apenas em despertar uma maioria indiferente, mas em converter uma maioria hostil.
II
SOBRE A HIGIENE NA EDUCAÇÃO
Relendo o meu protesto – que me parece honestamente muito necessário – contra a corrente idolatria pagã da mera ablução, vejo que talvez possa ser mal interpretado. E apresso-me a afirmar que me parece que é importantíssimo ensinar as virtudes da higiene, tanto aos ricos, como aos pobres. Não pretendo atacar a posição positiva, mas apenas a posição relativa do sabão. Parece-me muito bem que se insista nele como se tem insistido ultimamente; mas também me parece muito bem que se insista ainda mais noutras coisas. Até estou disposto a admitir que a higiene está próxima da santidade; mas os modernos nem sequer admitem que a santidade está próxima da higiene. Quando se referem a Thomas Becket e a outros santos e heróis do mesmo calibre, dão a entender que o sabão é mais importante que a alma; rejeitam a santidade quando não está associada à higiene. E, se lamentamos que assim seja quando se trata dos santos e dos heróis do passado, devemos lamentá-lo ainda mais quando se trata dos muitos santos e heróis dos bairros de lata, cujas mãos por lavar lavam o mundo. A sujidade é um mal sobretudo quando é uma prova de preguiça; o facto, porém, é que as classes que mais se lavam são as que menos trabalham. Relativamente a estas, o curso a seguir é muito simples: impor-lhes o sabão, publicitando-o como aquilo que é – um luxo. Relativamente aos pobres, o curso a seguir é facilmente harmonizável com a nossa tese. Se queremos dar sabão aos pobres, temos de lhes proporcionar luxos vários. Se não estamos dispostos a contribuir para que os pobres sejam suficientemente ricos para serem higiénicos, então temos de fazer aos pobres o que fazíamos aos santos: reverenciá-los pelo facto de serem pouco limpos.
III
SOBRE O DIREITO DE
PROPRIEDADE DOS CAMPONESES
Não tratei com pormenor da distribuição da propriedade, ou da possibilidade de ela ocorrer neste país, pela razão afirmada no texto. Este livro trata do que está mal, dos males de raiz dos nossos argumentos e dos nossos esforços. E o mal está em que avançamos porque não nos atrevemos a recuar. Assim, os socialistas afirmam que a propriedade está concentrada em fundos de investimento, e que a nossa única esperança é concentrá-la no Estado. Por mim, diria que a nossa única esperança é desconcentrá-la; isto é, arrependermo-nos e voltarmos atrás; o único passo a dar em frente é um passo à retaguarda.
Porém, relativamente a esta distribuição, talvez tenha cometido outro erro. Ao falar de uma redistribuição generalizada, refiro-me à decisão nos objectivos, e não necessariamente à violência nos meios. Não é tarde para restabelecermos uma situação de razoável racionalidade na distribuição das propriedades neste país, sem recorrermos à simples confiscação. A adopção em Inglaterra de uma política de redistribuição por via da compra de terras dos proprietários ausentes, como a que foi adoptada na Irlanda, conduziria, num período muito curto, ao reequilíbrio da propriedade neste país. A objecção a este projecto não é que não funciona, mas apenas que ninguém está disposto a levá-lo à prática. Se não fizermos nada, é quase certo que acabaremos por ter um regime de confiscação. Se hesitarmos, em breve teremos de nos apressar. Mas, se nos despacharmos, ainda temos tempo para aplicar este plano com calma.
Mas este aspecto não é essencial ao livro. Aquilo que me interessa realmente deixar claro é que tanto os grandes armazéns Whiteley como o socialismo me desagradam; e desagradam-me porque (segundo os próprios socialistas) o socialismo vai ser como os referidos armazéns. O socialismo consiste na realização, e não na inversão desse projecto. O que me desagrada no socialismo não é a possibilidade de ele revolucionar a nossa actividade comercial, mas a horrível possibilidade de a deixar exactamente na mesma.




Biblio VT
















