



Biblio VT




Em Entre os lençóis, Ian McEwan brinda-nos com uma série de pequenas histórias onde as tramas aberrantes e as situações perversas nos acenam a cada página. Numa escri ta empolgante, o autor atrai a nossa curiosidade, conduzindo-nos através de galerias de fantasmas que tenta exorcizar ou transformar em espelhos onde temos medo de nos reconhecermos.
Chamemos-lhes transcrições de sonhos ou mapas precisos das zonas emocionais da mente. Os sete contos que incluem este livro atraem-nos e enredam-nos das mais terríveis formas imagináveis. Um pornógrafo transforma-se no objecto indesejado das fantasias de uma das suas vítimas. Um milionário saturado compra a amante perfeita e mergulha num inferno de ciúme e desespero. E durante um fim de semana com a sua filha adolescente um pai perseguido pela culpa descobre as profundezas da sua própria inocência.
Não conseguimos resistir à voluptuosidade deste estilo que nos arrasta até ao confronto entre a nossa sensibilidade e o comportamento estranho e distorcido das personagens envolvidas. McEwan é mestre quando, no fim, muda subitamente de rumo e nos proporciona o suspiro de alívio das consciências em paz. A par do cinismo e do clima por vezes sórdido, há um tom divertido e uma ternura subjacentes a cada uma das narrativas. Cmoo só McEwan sabe fazer.
"As suas histórias são [...] sobre o reconhecível mundo da fantasia privada e do pesadelo - um mundo no qual, apesar de o negarmos, estamos todos envolvidos."
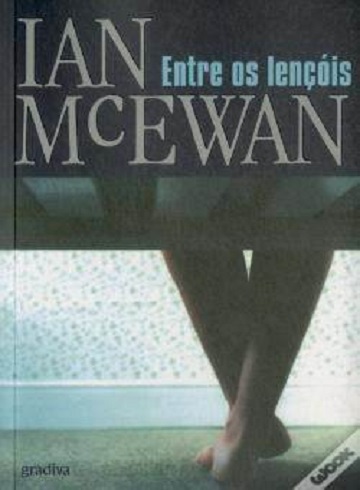
Pornografia
O'Byrne atravessou o mercado do Soho a caminho da loja do irmão, na Brewer Street. Um punhado de clientes folheava as revistas, observado por Harold através das
lentes grossas como seixos, do alto do seu estrado, ao canto. Harold tinha, à justa, metro e meio de altura e usava sapatos de tacão alto. Antes de se tornar seu
empregado, O'Byrne costumava chamar-lhe Anãozinho. Ao lado do cotovelo de Harold, um rádio em miniatura transmitia, estridentemente, pormenores sobre as corridas
de cavalos da tarde.
- Então - disse Harold, com leve desdém -, o irmão pródigo...
Os seus olhos ampliados palpitavam a cada consoante. Olhou por cima do ombro de O'Byrne e lembrou:
- Todas as revistas são para venda, cavalheiros.
Os leitores mexeram-se, pouco à vontade, como sonhadores perturbados. Um deles repôs a revista no seu lugar e saiu apressadamente da loja.
- Onde estiveste metido? - perguntou Harold, em voz mais serena. Desceu do estrado, vestiu o casaco e olhou, furioso, para O'Byrne, à espera de uma resposta. Anãozinho.
O'Byrne era dez anos mais novo do que o irmão e detestava-o, assim como ao seu êxito, mas naquele momento, estranhamente, queria a sua aprovação.
- Tinha uma consulta, não tinha? - respondeu, calmamente. - Apanhei um esquentamento. Harold ficou satisfeito. Estendeu o braço e socou, de brincadeira, o ombro
de O'Byrne.
- É bem feito - declarou, e deu uma gargalhada, teatralmente. Outro cliente saiu da loja, como quem não quer a coisa.
- Volto às cinco - informou Harold, da porta. O'Byrne sorriu quando ele saiu. Enfiou os polegares no cós dos jeans e dirigiu-se, a gingar, para o magote de clientes.
- Posso ajudá-los, cavalheiros? As revistas são todas para venda. - Eles dispersaram à sua frente, como galináceos atarantados, e de súbito ele ficou sozinho na
loja.
Uma mulher roliça, de cinquenta anos ou mais, estava parada diante de uma cortina de chuveiro de plástico, tendo como única indumentária umas cuecas e uma máscara
antigás. As mãos pendiam-lhe frouxamente, aos lados, e numa delas fumegava um cigarro. Mulher do Mês. Desde as máscaras antigás e um grosso lençol de borracha na
cama, escrevia JN, de Andover, nunca mais olhámos para trás.
O'Byrne entreteve-se uns momentos com o rádio e depois desligou-o. Com movimentos ritmados, folheou a revista. Parava para ler as cartas. Um virgem incircunciso,
sem higiene, quarenta e dois anos em Maio próximo, não se atrevia agora a arregaçar o prepúcio com receio do que poderia ver. Tenho uns pesadelos com vermes. O'Byrne
riu-se e cruzou as pernas. Pôs a revista 110 seu lugar, voltou para o rádio, ligou-o e desligou-o rapidamente e captou o meio ininteligível de uma palavra. Deu umas
voltas pela loja, a endireitar as revistas nos expositores. Parou à porta e olhou para a rua molhada, cortada pelas faixas coloridas da zebra de plástico para peões.
Assobiou repetidamente uma melodia cujo fim sugeria, acto contínuo, o seu princípio. Em seguida regressou ao estrado de Harold e fez dois telefonemas, ambos para
o hospital, o primeiro deles para Lucy. Mas a enfermeira Drew estava ocupada na enfermaria e não podia atender. O'Byrne deixou um recado: afinal não podia visitá-la
naquela noite; no dia seguinte voltaria a telefonar. Ligou de novo para o hospital e desta vez perguntou pela enfermeira estagiária Shepherd, do Serviço de Pediatria.
- Olá - disse, quando Pauline levantou o auscultador. - Sou eu. - K espreguiçou-se e encostou-se à parede. Pauline era uma rapariga calada, que uma vez chorara num
filme sobre os efeitos dos pesticidas nas borboletas, e queria redimir O'Byrne com o seu amor. Riu-se ao ouvi-lo.
- Passei a manhã inteira a telefonar-te. O teu irmão não te disse?
- Escuta - respondeu O'Byrne -, estarei em tua casa por volta das oito. - E desligou.
Harold só chegou depois das seis, e O'Byrne estava quase a dormir, com a cabeça a descansar no antebraço. Não se encontrava nenhum cliente na loja. A única venda
que fizera tinha sido uma American Bitch.
- Estas revistas americanas - observou Harold, enquanto tirava da caixa quinze libras e um punhado de moedas de prata - são boas. - O novo casaco de cabedal de Harold.
O'Bvrne apalpou-o com apreço. - Setenta e oito libras - disse o irmão, colocando-se diante do espelho, cujo brilho lembrava um olho de peixe. Os seus óculos cintilavam.
- É porreiro - elogiou O'Bvrne.
- É porreiríssimo - corrigiu Harold, e começou a fechar a loja. - Nunca se vende muito às quartas-feiras - comentou, melancolicamente, ao estender o braço para ligar
o alarme contra ladrões. - A quarta-feira é um dia fodido.
Agora era O'Byrne que estava diante do espelho, a examinar um pequeno rasto de acne que partia do canto da sua boca.
- Fodido como o caraças - concordou.
A casa de Harold ficava junto da torre dos Correios e O'Byrne tinha lá um quarto alugado. Puseram-se a caminho juntos, sem falar. De vez em quando, Harold olhava
de soslaio para uma montra escura, a fim de captar um reflexo de si próprio e do seu novo casaco de cabedal. Anãozinho.
- Tá frio, não tá? - disse O'Byrne, mas Harold não respondeu.
Minutos depois, ao passarem por um pub, Harold encaminhou-o para a sala húmida e deserta, enquanto dizia:
- Já que apanhaste um esquentamento, pago-te um copo.
O empregado ouviu o comentário e olhou para CByrne
com interesse. Beberam três scotcbes cada um, e quando O'Byrne estava a pagar a quarta rodada o irmão disse-lhe:
- É verdade, uma dessas enfermeiras com quem andas metido telefonou.
CByrne acenou com a cabeça e limpou os lábios. Após uma pausa, Harold acrescentou:
- Estás fixe, ali...
O'Byrne acenou de novo.
- Tou. - O casaco de Harold brilhava. Quando estendeu a mão para o copo, o cabedal rangeu. O'Byrne não ia dizer-lhe nada. Bateu com as mãos uma na outra. - Tou -
repetiu, olhando fixamente, por cima da cabeça do irmão, para o balcão vazio.
Harold tentou de novo:
- Ela queria saber onde tinhas estado...
- Aposto que queria - murmurou O'Byrne, e depois sorriu.
Pauline, baixa e pouco faladora, rosto exangue e pálido atravessado por uma pesada franja preta, olhos grandes, verdes e atentos, partilhava o seu andar, pequeno
e húmido, com uma secretária que nunca lá estava. O'Byrne chegou depois das dez, um pouco embriagado e necessitado de um banho para expurgar o leve odor purulento
que ultimamente lhe não abandonava os dedos. Ela sentou-se num pequeno banco de madeira para vê-lo regalar-se na água. A certa altura inclinou-se para a frente e
tocou-lhe no corpo, no ponto onde ele emergia da superfície. O'Byrne tinha os olhos fechados e as mãos a boiar ao seu lado, e o único som que se ouvia era um silvo
decrescente do autoclismo. Pauline levantou-se em silêncio para ir ao quarto buscar uma toalha branca lavada, e O'Byrne não a ouviu sair nem voltar. Ela sentou-se
de novo e despenteou-lhe, na medida em que isso era possível, o cabelo húmido e emaranhado.
- O jantar já não se aproveita - disse, sem recriminação. Aos cantos dos olhos de O'Byrne formavam-se gotas de transpiração que lhe desciam pela linha do nariz,
como lágrimas. Pauline pousou a mão no joelho dele, que irrompia da água cinzenta. O vapor transformava-se em água nas paredes frias. Os minutos passavam sem sentido.
- Deixa lá isso, amor - disse O'Byrne, e levantou-se.
Pauline saiu para comprar pizzas e cerveja e ele deitou-se no quarto minúsculo, à espera. Passaram dez minutos. O'Byrne vestiu-se, após observação superficial do
meato limpo, mas inchado, e cirandou distraidamente pela sala. Não encontrou na pequena colecção de livros de Pauline nada que lhe interessasse. Não havia revistas
nenhumas. Foi à cozinha, à procura de qualquer coisa para beber. Encontrou apenas um empadão de carne ressequido. Depenicou à volta das áreas queimadas e, enquanto
comia, foi passando as páginas de um calendário com gravuras. Quando acabou lembrou-se de novo de que estava à espera de Pauline. Olhou para o relógio. Ela saíra
havia quase meia hora. Levantou-se tão abruptamente que a cadeira, atrás dele, caiu ao chão. Parou por instantes na sala e depois saiu, decidido, de casa e bateu
com a porta. Desceu rapidamente a escada, desejoso de não encontrar Pauline, agora que resolvera ir-se embora. Mas encontrou-a. A meio do segundo lanço de degraus,
um pouco ofegante e com os braços ajoujados de garrafas e embrulhos de papel de estanho.
- Onde te meteste? - perguntou-lhe O'Byrne.
Pauline parou vários degraus abaixo dele, de cabeça incomodamente inclinada para trás, por sobre as compras. O branco dos seus olhos e o papel estanhado brilhavam
muito no escuro.
- O lugar do costume estava fechado. Tive de andar quilómetros... Desculpa.
Ficaram parados. O'Byrne não tinha fome. Queria ir-se embora. Enfiou os polegares no cós dos jeans e ergueu a cara na direcção do tecto invisível; depois olhou para
baixo, para Pauline, que estava à espera.
- Bem - disse, finalmente -, estava a pensar em ir-me embora.
Pauline subiu e ao passar por ele murmurou:
- Pateta.
O'Byrne voltou-se e seguiu-a, obscuramente defraudado.
Encostou-se à ombreira da porta, enquanto ela endireitava a cadeira. Com um movimento da cabeça, O'Byrne indicou que não queria nenhuma da comida que Pauline estava
a pôr nos pratos. Ela serviu-lhe uma cerveja e ajoelhou-se para apanhar do chão algumas crostas escuras de pastéis. Foram sentar-se na sala. O'Byrne bebeu, Pauline
comeu vagarosamente, nenhum dos dois falou. Ele acabou a cerveja e pousou a mão no joelho dela. Pauline não se voltou. Ele perguntou jovialmente:
- Que é que tu tens? - e ela respondeu:
- Nada.
Cheio de irritação, O'Byrne chegou-se mais para ela e passou-lhe o braço pelos ombros, num gesto protector.
- Sabes o que vamos fazer? - perguntou-lhe, num meio sussurro. - Vamos para a cama.
Pauline levantou-se, bruscamente, e foi para o quarto. Ele ficou sentado, com as mãos entrelaçadas atrás da cabeça. Ouviu-a despir-se e depois ouviu o ranger da
cama. Levantou-se e, ainda sem desejo, entrou no quarto.
Pauline estava deitada de costas e O'Byrne, depois de se despir apressadamente, deitou-se a seu lado. Ela não o acolheu da maneira habitual, não se mexeu. O'Byrne
levantou o braço para lhe acariciar o ombro, mas em vez disso deixou a mão cair de novo, pesadamente, no lençol. Ficaram ambos deitados de costas num silêncio crescente,
até que ele resolveu dar-lhe uma última oportunidade e, com roncos desprovidos de qualquer significado, soergueu-se no cotovelo e colocou o rosto sobre o dela. Os
olhos de Pauline, densos de lágrimas, fitavam um ponto para lá dele.
- Qual é o problema? - perguntou-lhe O'Byrne em tom monocórdico, resignado. Os olhos dela moveram-se quase imperceptivelmente e fitaram-se nos seus.
- Tu - respondeu, simplesmente.
O'Byrne regressou ao seu lado da cama e, decorrido um momento, disse, ameaçadoramente:
- Percebo. - Depois levantou-se e passou por cima dela para o outro lado do quarto. - Está bem, nesse caso... acrescentou. Puxou os atacadores, deu-lhes um nó e
procurou a camisa. Pauline estava de costas para ele, mas quando O'Byrne atravessava a sala, o lamento de negação de Pauline, num crescendo de volume e rapidez,
fê-lo parar e voltar-se. Toda branca, numa camisa de dormir de algodão, ela estava à porta do quarto e no ar, simultaneamente em todos os pontos do espaço interveniente,
como o mergulhador do fotógrafo de truques, estava do outro lado da sala e encostada às suas lapelas, com os nós dos dedos na boca e a abanar a cabeça. O'Byrne sorriu
e passou-lhe os braços pelos ombros. O desejo de perdoar apoderou-se dele. Agarrados um ao outro voltaram para o quarto. O'Byrne despiu-se e deitaram-se de novo,
ele de costas, ela com a cabeça aninhada no seu ombro.
- Nunca sei o que se passa na tua cabeça - declarou O'Byrne, e, profundamente confortado com esse pensamento, adormeceu. Meia hora depois acordou. Pauline, exausta
por uma semana de turnos de doze horas dormia profundamente no seu braço. Ele sacudiu-a, devagarinho. - Eh - chamou. Sacudiu-a de novo, agora com menos brandura,
e quando o ritmo da respiração dela se quebrou e Pauline começou a mexer-se, acrescentou, numa paródia lacónica de algum filme esquecido: - Eh, há uma coisa que
ainda não fizemos...
Harold estava excitado.
Quando O'Byrne entrou na loja, cerca do meio-dia do dia seguinte, o irmão agarrou-lhe nos braços e agitou no ar uma folha de papel.
- Tenho tudo planeado - anunciou, quase a gritar. - Já sei o que quero fazer com a loja.
- Ah, sim - respondeu O'Byrne, estupidamente, e levou os dedos aos olhos e coçou ate a comichão intolerável que neles sentia se transformar numa dor suportável.
Harold esfregou as mãos pequenas e rosadas e explicou, muito depressa:
- Vou passar para a All American. Esta manhã falei com o representante deles pelo telefone e ele deve chegar aqui dentro de meia hora. Vou livrar-me de todas essas
cartas mija-lhe-na-cona a uma libra de cada vez. Vou passar para toda a gama da House of Florence a quatro libras e meia de cada vez.
O'Byrne atravessou a loja até à cadeira onde se encontrava o casaco de Harold. Experimentou-o. Era demasiado pequeno, claro.
- E vou chamar-lhe "Transatlantic Books" - dizia Harold. O'Byrne atirou de novo o casaco para a cadeira. Ele escorregou para o chão e pareceu esvaziar-se como um
saco aéreo reptiliano. Harold apanhou-o, sem deixar de falar. - Se negociar com a Florence em exclusivo, fazem-se um desconto especial e... - deu uma pequena gargalhada
- eles pagam o caraças do letreiro de néon.
O'Byrne sentou-se e interrompeu o irmão:
- Quantas dessas merdas dessas mulheres insufláveis já empandeiraste? Ainda há vinte c cinco na cave. - Mas Harold estava a deitar scutcb em dois copos. - Ele estará
aqui dentro de meia hora - repetiu, e estendeu um copo a O'Byrne.
- Porreiro - respondeu o irmão, e bebeu um gole.
- Quero que leves a furgoneta a Norbury e levantes a encomenda esta tarde. Quero começar imediatamente.
O'Byrne continuou sentado, taciturno, com o copo, enquanto o irmão assobiava e se atarefava na loja. Entrou um homem e comprou uma revista.
- Estás a ver? - disse O'Byrne, acidamente, enquanto o cliente se demorava ainda junto dos preservativos tentacula-dos. - Ele comprou inglês, não comprou? - O homem
voltou-se, com ar culpado, e saiu. Harold aproximou-se, acocorou-se junto da cadeira de O'Byrne e falou como quem explica o acto da cópula a uma criança. - E quanto
ganhei eu? Quarenta por cento de setenta e cinco pence. Ou seja, trinta porras de trinta pence. Com a House of Florence ganharei cinquenta por cento de quatro libras
e meia. E a isso - pousou momentaneamente a mão 110 joelho de O'Byrne - é que eu chamo fazer negócio.
O'Byrne acenou com o copo vazio diante da cara de Harold e esperou pacientemente que ele lho enchesse... Anão-zinbo.
O armazém da House of Florence era uma igreja abandonada, numa rua estreita de casas enfileiradas, em Norbury, do lado de Brixton. O'Byrne entrou pelo alpendre principal.
No lado ocidental tinham sido divididos um escritório e uma sala de espera com placas de gesso. A pia de água benta era agora um grande cinzeiro na sala de espera.
Uma mulher idosa, de cabelo pintado de azul, estava sozinha no escritório, a escrever à máquina. Ignorou O'Byrne quando ele bateu no postigo da divisória e depois
levantou-se e correu o vidro. Pegou na nota de encomenda que ele lhe estendia, lançando-Ihe um olhar de indisfarçada antipatia.
- É melhor esperar ali - disse-lhe, afectadamente.
O'Byrne sapateou, distraidamente, perto da pia de água
benta, penteou-se e assobiou a melodia que formava um círculo. De súbito, viu a seu lado um homem mirrado, de bata castanha e com uma tabuinha com papéis presos
por uma mola.
- Transatlantic Books? - perguntou.
O'Byrne encolheu os ombros e seguiu-o. Caminharam juntos, lentamente, por compridas coxias com prateleiras de aço a formar estantes, o velho a empurrar um grande
carro de mão e O'Byrne um pouco à sua frente, com as mãos entrelaçadas atrás das costas. O empregado do armazém parava de poucos em poucos metros e, a ofegar mal-humoradamente,
tirava uma grossa rima de revistas das prateleiras. A carga aumentava no carro. A respiração do velho ecoava asperamente na igreja. Ao fim da primeira coxia sentou-se
no carro, entre as rimas certinhas de revistas, e durante cerca de um minuto tossiu e escarrou para um lenço de papel. Depois dobrou cuidadosamente o lenço e o seu
pesado conteúdo verde, meteu-o na algibeira e disse a O'Byrne:
- Oiça lá, você é novo. Empurre você esta carripana.
E O'Byrne respondeu-lhe:
- Empurre você essa merda. É a sua obrigação. - E ofe-receu-lhe um cigarro, que acendeu.
O'Byrne inclinou a cabeça na direcção das prateleiras.
- Tem aqui muito que ler.
O velho exalou, irritadamente.
- E tudo javardice. Devia ser proibido.
Prosseguiram. No fim, quando assinava a factura, O'Byrne perguntou:
- Que tem na agenda para esta noite? A madame ali do escritório?
O empregado do armazém ficou fatisfeito. As suas gargalhadas ecoaram como sinos e depois enrouqueceram e terminaram noutro ataque de tosse. Encostou-se, fraco, à
parede, e quando se refez o suficiente levantou a cabeça e piscou maliciosamente um olho lacrimoso. Mas O'Byrne voltara-se e empurrava o carro com as revistas para
a furgoneta.
Lucy era dez anos mais velha do que Pauline e um tanto gorducha, mas o andar onde vivia era grande e confortável. Ela era enfermeira e Pauline apenas estagiária.
Não sabiam nada uma da outra. Na estação do metro, O'Byrne comprou flores para Lucy e quando ela lhe abriu a porta estendeu--Ihas, com uma vénia trocista e um bater
de calcanhares.
- Uma oferta de paz? - perguntou ela, desdenhosamente, e levou os narcisos para dentro. Conduzira-o ao quarto. Sentaram-se ao lado um do outro, na cama. O'Byrne
passou-lhe a mão pela perna acima, num gesto mais ou menos superficial. Ela afastou-lhe o braço e perguntou:
- Vamos lá a saber por onde andaste nos últimos três dias?
O'Byrne mal se lembrava. Duas noites com Pauline, uma noite no pub com amigos do seu irmão. Deixou-se cair para trás, voluptuosamente, na colcha de algodão cor-de-rosa.
- Sabes... tenho trabalhado até tarde para o Harold. A modificar a loja. Coisas desse género.
- Esses livros porcos - disse Lucy, e soltou uma casquinada aguda.
O'Byrne levantou-se e descalçou os sapatos.
- Não comeces com isso - replicou, contente por não precisar de continuar na defensiva. Lucy inclinou-se para a frente e pegou nos sapatos dele.
- Dás cabo deles -disse, diligentemente- a descalçá-los assim, com as biqueiras nos calcanhares.
Despiram-se ambos. Lucy pendurou cuidadosamente as suas roupas no guarda-vestidos. Quando O'Byrne ficou quase nu à sua frente, ela franziu o nariz com repugnância.
- Este cheiro é teu?
O'Byrne sentiu-se ofendido.
- Eu tomo um banho - prontificou-se, bruscamente.
Lucy agitou a água da banheira com a mão e falou alto,por cima do barulho das torneiras.
- Devias ter-me trazido alguma roupa, para eu ta lavar. - Enfiou um dedo no elástico das suas cuecas. - Dá-mas, que eu lavo-as agora e estarão secas de manhã.
O'Byrne entrelaçou os dedos nos dela, num fingimento de afecto.
- Não, não - gritou muito depressa. - Vesti-as lavadas esta manhã, palavra.
Brincalhona, Lucy tentou despir-lhas. Lutaram no chão da casa de banho, ela a guinchar de riso, ele excitado, mas determinado.
Por fim, Lucy vestiu o roupão e saiu. O'Byrne ouviu-a na cozinha. Sentou-se na banheira e lavou as manchas verde-vivas. Quando Lucy voltou, as cuecas estavam a secar
no radiador.
- Women's Lib, não é? - brincou O'Byrne da banheira.
- Também vou tomar banho - disse I.ucy, a despir o roupão, e ele arranjou espaço para ela.
- Não faça cerimónias - disse, a sorrir, enquanto ela entrava na água acinzentada.
O'Byrne deitou-se de costas nos lençóis brancos, lavados, e Lucy instalou-se em cima da sua barriga, como uma enorme ave no ninho. Não permitia que fosse de outra
maneira, dissera, desde o princípio: "Quem manda sou eu." O'Byrne respondera: "Veremos." Horrorizava-o, nauseava-o pensar que poderia gostar de ser dominado, como
um daqueles aleijados das revistas do irmão. Lucy falara desembaraçadamente, com o género de voz que usava com doentes difíceis. ".Se não gostares, não voltes."
Imperceptivelmente, O'Byrne foi iniciado nas exigências de Lucy. Não se tratava apenas de querer montar-se nele. Também não queria que ele se mexesse.
"Se voltas a mexer-te", advertiu-o uma vez, "acabou-se." Por mera força de hábito, ele erguera-se, procurando penetrá-la mais profundamente, e ela, veloz como a
língua de uma serpente, esbofeteara-o várias vezes, com a palma da mão aberta. Veio-se no mesmo instante, e depois deitou-se atravessada na cama, meio a soluçar,
meio a rir. O'Byrne, com um lado da cara inchado e vermelho, saiu amuado. "És um raio de uma pervertida", gritara da porta.
No dia seguinte voltou, e Lucy acedeu a não tornar a bater-lhe. Em vez disso, insultava-o. "Patético merdoso impotente", gritava, no cume da sua excitação. E parecia
intuir a sensação de prazer culpado de O'Byrne e desejar aumentá-la. Uma vez, saíra inesperadamente de cima dele e, com um sorriso sonhador, urinara-lhe na cabeça
e no peito. Ele debatera-se para se desviar, mas Lucy imobilizara-o e parecera profundamente satisfeita com o orgasmo dele, que ele não pretendera. Dessa vez saíra
enfurecido. O cheiro forte, químico, de Lucy permanecera com ele durante dias, e fora durante esse tempo que conhecera Pauline. Mas passada uma semana estava de
novo em casa de Lucy, a pretexto de ir buscar a sua gilete, e ela tentava convencê-lo a usar a sua roupa interior. O'Byrne resistiu, com horror e excitação. "O teu
problema", disse-lhe Lucy, "é teres medo do que gostas."
Agora Lucy agarrava-lhe o pescoço com uma mão.
- Não te atrevas a mexer-te - disse, em tom sibilante, e fechou os olhos.
O'Byrne estava quieto. Por cima dele, Lucy abanava como uma árvore gigantesca. Os seus lábios formavam uma palavra, mas não emitiam nenhum som. Passados muitos minutos
abriu os olhos e fitou-o, franzindo um pouco a testa, como se fizesse um esforço para o identificar. E não parava de se inclinar para a frente e para trás. Por fim
falou, mais para consigo do que para ele.
- Verme... - O'Byrne gemeu. As pernas e as coxás de Lucy contraíram-se e tremeram. - Verme... verme... pequeno verme. Vou pisar-te... esborrachar-te... imundo vermezinho.
- A sua mão fechou-se uma vez mais à volta do pescoço dele.
Ele tinha os olhos profundamente afundados nas órbitas, e a sua palavra fez uma longa viagem antes de lhe sair dos lábios.
- Sim - murmurou.
No outro dia, O'Byrne foi à clínica. O médico e o seu assistente mostraram-se práticos e nada impressionados. O assistente preencheu um formulário e quis saber pormenores
da sua história sexual recente. O'Byrne inventou uma prostituta na estação de autocarros de Ipswich. Depois isolou-se durante muitos dias. Ia à clínica de manhã
e à tarde, para as injecções, e sentia-se vazio de desejo. Quando Pauline ou Lucy telefonavam, Harold dizia-lhes que não sabia onde O'Byrne estava. - Provavelmente,
foi para qualquer lado - acrescentava, piscando o olho ao irmão, que o ouvia ao fundo da loja. As duas mulheres telefonaram todos os dias, durante três ou quatro
dias, e depois, de repente, não houve mais nenhum telefonema de qualquer delas.
O'Byrne não ligou importância. A loja estava agora a ganhar bom dinheiro. A noite ia beber com o irmão e os amigos do irmão. Sentia-se simultaneamente atarefado
e doente. Passaram dez dias. Com o dinheiro suplementar que Harold lhe estava a pagar comprou um casaco de cabedal, como o do irmão, mas um pouco melhor, mais vistoso,
forrado de imitação de seda vermelha. Além de ranger, também brilhava. Passava muitos minutos diante do espelho de olho de peixe, de lado, a admirar a maneira como
os seus ombros e bíceps esticavam e faziam luzir o cabedal. Vestia-o quando ia da loja à clínica, e sentia os olhares das mulheres, na rua. Pensava em Pauline e
Lucy. Passou um dia a decidir a qual delas telefonar primeiro. Escolheu Pauline, e ligou-lhe da loja.
A enfermeira estagiária Shepherd não estava disponível, informaram-no, após muitos minutos de espera. Estava a fazer um exame. O'Byrne pediu que transferissem a
chamada para o outro lado do hospital.
- Olá - saudou, quando Lucy levantou o auscultador. - Sou eu.
Lucy ficou encantada.
- Quando regressaste? Onde estiveste? Quando apareces?
Ele sentou-se.
- Que tal esta noite? - sugeriu.
Lucy sussurrou, num tom de gatinha sensual provocante:
- Nem sei como vou poder esperar...
O' Byrne riu-se e apertou a testa com o polegar e o indicador, e ouviu outras vozes distantes na linha e Lucy a dar instruções. Depois ela disse-lhe rapidamente:
- Agora tenho de ir. Acabam de trazer um doente. Até logo, por volta das oito... - e desligou.
O'Byrne tinha preparado a sua história, mas Lucy não lhe perguntou onde estivera. Estava excessivamente feliz. Riu-se quando lhe abriu a porta, abraçou-o e riu-se
de novo. Parecia diferente. O'Byrne não se lembrava de a ver tão bonita. Tinha o cabelo mais curto e de um castanho mais escuro, as unhas pintadas de cor-de-laranja
pálido e usava um vestido curto, preto, com pintas cor-de-laranja. Havia velas e copos de vinho na mesa da casa de jantar e o gira-discos tocava música. Ela recuou,
de olhos brilhantes, quase loucos, e admirou o seu casaco de cabedal. Passou as mãos pelo forro vermelho. Apertou-se contra ele.
- Tão macio - disse. - Baixaram o preço para sessenta libras - informou O'Byrne, orgulhosamente, e tentou beijá-la. Mas ela riu-se de novo e empurrou-o para uma
cadeira.
- Espera aqui, que vou buscar qualquer coisa para bebermos.
O'Byrne recostou-se na cadeira. No disco, um homem cantava uma canção que falava de amor num restaurante com toalhas de mesa brancas, lavadas. Lucy trouxe uma garrafa
de vinho branco gelado. Sentou-se no braço da cadeira dele e beberam e conversaram. Lucy contou-lhe histórias recentes da enfermaria, de enfermeiras que se tinham
apaixonado, de doentes que se tinham curado ou morrido. Enquanto falava, desabotoou os botões de cima da camisa dele e enfiou a mão pela abertura, até à barriga.
E quando O'Byrne se virou na cadeira e quis agarrá-la ela afastou-o, inclinou-se para baixo e beijou-o no nariz.
- Agora não - disse, afectadamente.
O'Byrne aplicou-se. Contou anedotas que por sua vez ouvira contar no pub. Lucy ria-se loucamente no fim de cada uma, e quando ele iniciava a terceira deixou cair
a mão para entre as suas pernas e descansou aí, levemente. O'Byrne fechou os olhos. A mão deixara-o e Lucy acotovelava-o.
- Continua - disse-lhe. - Estava a tornar-se interessante.
Ele agarrou-lhe o pulso e quis puxá-la para o colo. Com
um pequeno suspiro, ela soltou-se, saiu e voltou com outra garrafa.
- Devíamos beber vinho mais vezes - observou - se te faz contar histórias tão engraçadas.
Encorajado, O'Byrne contou a anedota, que metia um automóvel e o que o mecânico de uma garagem disse a um cura. Lucy estava de novo à pesca nas imediações da sua
braguilha e a rir, a rir. A história era mais divertida do que ele imaginara. O chão subia e descia debaixo dos seus pés. E Lucy tão bonita, perfumada, quente...
com os olhos a luzir. As provocações dela paralisavam-no. Ele amava-a, e ela ria e despojava-o da sua vontade. Agora percebia, viera para viver com ela, e ela provocava-o
todas as noites até à beira da loucura. Comprimiu o rosto contra os seus seios.
- Amo-te -, tartamudeou, e Lucy estava de novo a rir, a tremer, a limpar as lágrimas dos olhos.
- Tu... tu... - tentava ela dizer, repetidamente. Despejou o resto da garrafa no copo dele. - Aqui vai um brinde...
- Sim - disse O'Byrne. - A nós.
Lucy estava a conter o riso.
- Não, não - guinchou. - A ti.
- Está bem - concordou ele, e emborcou o vinho de um trago. Depois viu Lucy de pé à sua frente, a puxar-lhe o braço.
- Vem - dizia. - Vem.
O'Byrne levantou-se com dificuldade da cadeira.
- E então o jantar? - perguntou.
- O jantar és tu - respondeu ela, e desatou às gargalhadinhas enquanto se dirigiam, cambaleantes, para o quarto.
Quando se despiam, Lucy disse:
- Tenho uma pequena surpresa especial para ti, por isso... nada de firas.
O'Byrne sentou-se na beira da grande cama de Lucy e tremeu de frio.
- Estou preparado para tudo - respondeu.
- Óptimo... Óptimo - e, pela primeira vez, beijou-o profundamente e empurrou-o com brandura para trás, para cima da cama. Depois subiu ela e sentou-se sobre o seu
peito. (O'Byrne fechou os olhos. Meses atrás, teria resistido furiosamente. Lucy pegou-lhe na mão esquerda, levou-a à boca e beijou-lhe um dedo de cada vez.
- Mmmm... o primeiro prato.
Ele riu-se. A cama e o quarto ondulavam suavemente à sua volta. Lucy puxava-lhe a mão para a esquina da cabeceira da cama. O'Byrne ouviu um tilintar distante, como
de guizos. Lucy ajoelhou ao lado do seu ombro, empurrando-lhe o pulso para baixo e prendendo-o a uma correia. Dissera sempre que um dia o amarraria e o foderia.
Inclinou-se para o rosto dele e beijaram-se de novo. Ela lambia-lhe os olhos e segredava:
- Não vais a lado nenhum.
O'Byrne ofegou, com falta de ar. Não conseguia convencer o seu rosto a sorrir. Agora ela agarrava-lhe o braço direito, puxava-o, esticava-o para o canto oposto da
cabeceira da cama. Com uma sensação apreensiva de submissão, O'Byrne sentiu o braço adormecer. Presos os braços, Lucy começou a percorrer-lhe com as mãos a parte
interna da coxa, descendo depois para os pés... ele estava esticado, esticado quase ao ponto de se partir, de se separar, preso a cada canto da cama, estendido sobre
o lençol branco. Lucy ajoelhou no vértice das suas pernas. Olhou para baixo, fitou-o com um sorriso leve, objectivo, e tocou-se a si própria, delicadamente, com
os dedos. O'Byrne esperava que ela se instalasse nele como uma enorme e branca ave no ninho. Ela desenhou, com a ponta de um dedo, a curva da excitação dele, e depois,
com o polegar e o indicador, formou um anel apertado na sua base. Fugiu-lhe um suspiro de entre os dentes. Lucy inclinou-se para a frente. Os seus olhos estavam
desvairados.
- Vamos tratar-tc da saúde, eu e a Pauline...
Pauline. Por instantes, sílabas vazias de significado.
- O quê? - perguntou O'Byrne, e no momento em que disse as palavras lembrou-se, e adivinhou uma ameaça.
- Solta-me - pediu muito depressa. Mas o dedo de Lucy agitou-se entre as pernas dela e os seus olhos semicerraram--se. A sua respiração era lenta e profunda. - Solta-me
- gritou ele, e debateu-se inutilmente com as correias. Lucy respirava agora cm haustos leves e pequenos. A medida que ele se debatia, eles aceleravam. Ela dizia
qualquer coisa... gemia qualquer coisa. Que dizia ela? Não conseguia ouvir. - Lucy, solta-me, por favor.
De súbito, ela ficou silenciosa, de olhos muito abertos e límpidos. Desceu da cama.
- A tua amiga Pauline não tarda aí - disse-lhe, e começou a vestir-se. Estava diferente, os seus movimentos eram desembaraçados e eficientes, já não olhava para
ele.
O'Byrne tentou falar em tom descontraído. A sua voz soou um pouco alta:
- Que se passa?
Lucy parou aos pés da cama, a abotoar o vestido. Estendeu o lábio com desdém.
- És um pulha - disse. A campainha da porta tocou e ela sorriu. - Soube regular bem o tempo, não achas?
- Sim, ele deixou-se prender sem dificuldade - dizia Lucy enquanto acompanhava Pauline ao quarto. Pauline não disse nada. Evitava olhar, quer para O'Byrne, quer
para Lucy. E os olhos de O'Byrne estavam fixados no objecto que ela transportava nos braços. Era grande e prateado, como uma torradeira eléctrica de tamanho superior
ao normal. - Podemos ligá-lo mesmo aqui - acrescentou Lucy. Pauline colocou o objecto em cima da mesa de cabeceira. Lucy sentou-se ao toucador e começou a escovar
o cabelo. - Eu vou já buscar alguma água para lhe deitarmos.
Pauline foi para junto da janela. Fez-se silêncio. Depois O'Byrne perguntou, com voz rouca:
- Que coisa é essa?
Lucy voltou-se no banco.
- É um esterilizador - respondeu, jovialmente.
- Um esterilizador?
- Sim, tu sabes, para esterilizar instrumentos cirúrgicos.
O'Byrne não ousou fazer a pergunta seguinte. Sentia-se nauseado e tonto. Lucy saiu do quarto. Pauline continuou a olhar pela janela, para a escuridão. O'Byrne sentiu
necessidade de murmurar:
- Eh, Pauline, que se passa?
Ela voltou-se para ele, mas não disse nada. O'Byrne descobriu que a correia à volta do seu pulso direito estava a afrouxar um pouco, o cabedal estava a dar de si.
Tinha a mão oculta por almofadas. Movimentou-a para a frente e para trás e falou insistentemente.
- Olha, vamo-nos embora daqui. Desafivela estas coisas.
Ela hesitou um momento e depois contornou a cama e fitou-o. Abanou a cabeça.
- Vamos tratar-te da saúde.
A repetição aterrorizou-o. Agitou-se com violência de lado para lado.
- Se é um caraças de uma brincadeira, não acho piada nenhuma! - gritou. Pauline virou-lhe as costas.
- Odeio-te - ouviu-a dizer-lhe. A correia da direita cedeu um pouco mais. - Odeio-te. Odeio-te. - O'Byrne puxou até ter a sensação de que o seu braço se ia partir.
A sua mão continuava demasiado grande para o laço que lhe cingia o pulso. Desistiu.
Lucy estava agora ao lado da cama, a deitar água no esterilizador.
- Isto é uma brincadeira doentia - disse O'Byrne. Lucy colocou um estojo preto, achatado, em cima da mesa. Abriu-o com desenvoltura e começou a tirar uma tesoura
de cabo comprido, bisturis e outros objectos cromados, reluzentes e pontiagudos. Depositou-os cuidadosamente dentro de água. O'Byrne recomeçou a tentar soltar à
mão direita. Lucy tirou o estojo preto e pôs na mesa dois recipientes em forma de rim, brancos com rebordo azul. Num deles havia duas seringas hipodérmicas, uma
grande e outra pequena. No outro havia algodão em rama. A voz de O'Byrne tremeu. - Para que é tudo isso?
Lucy colocou a mão fresca na sua testa. Respondeu, pronunciando as palavras com precisão:
- Isto é o que eles re deviam ter feito na clínica.
- Na clínica...? - repetiu ele, como um eco. Agora via que Pauline estava encostada à parede, a beber por uma garrafa de scotch.
- Sim - respondeu Lucy, estendendo a mão para lhe tomar o pulso. - Impedir-te de espalhar por aí as tuas doençazinhas secretas.
- E de dizer mentiras - acrescentou Pauline, com a voz tensa de indignação.
O'Byrne riu-se descontroladamente.
- Dizer mentiras... dizer mentiras... - gaguejou. Lucy tirou a garrafa das mãos de Pauline e levou-a aos lábios. O'Byrne recuperou um pouco de serenidade. As pernas
tremiam-lhe. - Endoideceram ambas.
Lucy deu uma pancadinha no esterilizador e disse a Pauline:
- Isto demora ainda alguns minutos. Vamos lavar as mãos na cozinha.
O'Byrne tentou levantar a cabeça.
- Aonde vão? - perguntou, quando saíam. - Pauline... Pauline!
Mas Pauline não tinha nada mais a dizer. Lucy parou à porta do quarto e sorriu-lhe.
- Vamos deixar-te um cotozinho giro, para te recordares de nós. - E fechou a porta.
Na mesa de cabeceira, o esterilizador começou a assobiar. Pouco depois ouviu-se o barulho baixo de água a ferver e no interior os instrumentos chocaram ao de leve
uns com os outros. Aterrorizado, ele puxou a mão. O cabedal estava a esfolar-lhe a pele do pulso. A correia roçava-lhe agora na base do polegar. Passaram minutos
infinitos. Ele choramingava e puxava, e a aresta da correia cravava-se-lhe profundamente na mão. Estava quase livre.
A porta abriu-se e Lucy e Pauline entraram com uma pequena mesa baixa. Devido ao medo, O'Byrne sentiu de novo excitação, uma excitação horrorizada. Elas colocaram
a mesa ao lado da cama. Lucy inclinou-se muito para a erecção dele.
- Oh, olhem para isto... olhem para isto - murmurou. Com uma pinça, Pauline tirou instrumentos da água a ferver e depositou-os, em filas certas e cromadas na toalha
de mesa branca, engomada, que estendera em cima da mesa. A correia deslizou um nadinha para a frente. Lucy sentou-se na beira da cama e tirou a seringa grande do
recipiente em forma de rim. - Isto vai deixar-te um pouco ensonado - prometeu. Voltou a seringa para cima, na perpendicular, e expeliu um pequeno jacto de líquido.
E quando ela estendia a mão para o algodão em rama o braço de O'Byrne soltou-se. Lucy sorriu. Pousou a seringa. Inclinou-se de novo para a frente... quente, perfumada...
fitando-o com olhos vermelhos desvairados... os seus dedos brincaram sobre a sua ponta... imobilizou-o entre os dedos. - Deita-te para baixo, Michael, meu queridinho.
- Acenou rapidamente a Pauline. - Se prender melhor essa correia, enfermeira Shepherd, penso que depois podemos começar.
Reflexões de um macaco manteúdo
Os comedores de espargos sabem o cheiro que eles transmitem à urina. Tem sido descrito como reptiliano, ou como um repulsivo fedor inorgânico, ou ainda como um odor
feminino forte... excitante. Sugere sem dúvida actividade sexual de alguma espécie entre criaturas exóticas, talvez de uma terra distante, de outro planeta. Este
cheiro fora deste mundo é um assunto para poetas, e eu desafio-os a enfrentarem as suas responsabilidades. Tudo isto... um preâmbulo para que possam descobrir-me
quando o pano sobe, parado a urinar e a reflectir num cubículo sobreaquecido contíguo à cozinha. As três paredes que enchem a minha visão são pintadas de um vermelho
vivo e nauseante, decoradas por Sally Klee quando ela se importava com coisas dessas, num tempo de distante e singular optimismo. A refeição, que decorreu num silêncio
total e que acabei de tomar, constou de vários alimentos enlatados, pasta de carne, batatas, espargos, servidos à temperatura ambiente. Foi Sally Klee que abriu
as latas e despejou o seu conteúdo em pratos de cartão. Demoro-me na minha casa de banho a lavar as mãos, a subir para a pia, para ver a minha cara ao espelho, a
bocejar. Mereço ser ignorado?
Encontro Sally klee como a deixei. Está na sua sala de jantar a brincar com fósforos queimados numa poça de luz baça. Tempos houve em que fomos amantes, vivendo
quase como marido e mulher, mais felizes do que a maioria dos maridos e mulheres. Depois, tendo-se ela cansando dos meus hábitos e exacerbando eu diariamente o seu
desagrado com a minha persistência, vivemos agora em quartos separados. Sally Klee não levanta a cabeça quando entro na sala, e eu paro, hesitante, entre a sua cadeira
e a minha, os pratos e as latas dispostos diante de mim. Talvez eu seja um pouco atarracado de mais para ser tomado a sério, tenha os braços um pouco compridos de
mais. Estendo-os e acaricio docemente o brilhante cabelo preto de Sally Klee. Sinto o calor do seu crânio sob o cabelo e ele comove-me, de tão intenso, tão triste.
Talvez tenham ouvido falar de Sally Klee. Há dois anos e meio publicou um pequeno romance que teve um êxito imediato. O romance descreve as tentativas e os amargos
insucessos de uma jovem mulher para ter um bebé. Clinicamente, parece não existir nenhuma deficiência nela, nem no marido, nem no irmão do marido. Segundo as palavras
do Times Literary Supplement, é uma história contada com "melancólica deliberação". Outras críticas sérias foram menos amáveis, mas no primeiro ano venderam-se trinta
mil exemplares da edição em capa dura e, até agora, um quarto de milhão em edição de bolso. Se não leram o livro, viram com certeza a capa da edição de bolso ao
comprarem o matutino na estação do metro. Uma mulher nua ajoelhada, com o rosto oculto nas mãos, no meio de um deserto árido. Depois disso, Sally Klee não escreveu
mais nada. Diariamente, há meses a fio, senta-se à máquina de escrever, à espera. Tirando uma súbita rajada de actividade ao fim de cada dia, a sua máquina permanece
silenciosa. Sally Klee não consegue lembrar-se de como escreveu o primeiro livro, não se afasta daquilo que sabe, não ousa repetir-se. Tem dinheiro e tempo e uma
casa confortável em que estiola, entediada e perplexa, à espera.
Sally Klee põe a mão sobre a minha quando esta desliza pela sua cabeça, não sei se para conter se para agradecer o gesto de ternura - continua com a cabeça inclinada
e não consigo ver-lhe o rosto. Como não sei nada, recorro à solução de compromisso e seguro-lhe na mão, e, segundos depois, as mãos de ambos caem frouxamente ao
longo dos nossos corpos. Eu não digo nada e, como o amigo perfeito, começo a levantar a mesa, a levar os pratos e os talheres, as latas e o abre-latas. A fim de
convencer Sally Klee de que não estou de modo algum ressentido ou amuado por causa do seu silêncio, assobio alegremente, por entre os dentes, Lillibolero, muito
à maneira do tio Toby de Sterne em ocasiões de tensão.
Exactamente assim. Estou a empilhar os pratos na cozinha e tão amuado que quase me esqueço de assobiar. Não obstante os meus sentimentos negativos, começo a preparar
o café. Sally Klee toma uma mistura de nada menos de quatro tipos diferentes de café em grão, numa emulação de Balzac, cuja biografia leu, num volume profusamente
ilustrado, enquanto revia as provas do seu primeiro romance. Nós chama-mos-lhe sempre o sen primeiro romance. Os grãos de café têm de ser cuidadosamente medidos
e moídos à mão - tarefa para a qual o meu físico é adequado. Desconfio que, secretamente, Sally Klee está convencida de que o bom café é a essência da arte da escrita.
Repara em Balzac (suponho que é o que ela diz para consigo), por exemplo, que escreveu milhares de romances e cujas facturas de café se apresentam aos interessados
dentro de expositores de vidro em tranquilos museus suburbanos. Depois de moer o grão, devo acrescentar uma pitada de sal e deitar a mistura na cavidade prateada
de uma máquina de aço inoxidável compacta, enviada para cá, pelo correio, de Grenoble. Enquanto a máquina aquece ao fogão, espreito Sally Klee de trás da porta da
sala de jantar. Ela está agora de braços cruzados e pousa-os na mesa à sua frente. Avanço alguns passos, na sala, na esperança de chamar a atenção do seu olhar.
Talvez o arranjinho estivesse condenado ao fracasso desde o início. Por outro lado, os prazeres que proporcionou - especialmente a Sally Klee- foram notáveis. E
embora ela esteja convencida de que, no meu comportamento para consigo, fui um pouco persistente de mais, maníaco de mais, "ávido" de mais, e embora, pela minha
parte, ainda ache que ela se deleitou mais com a minha estranheza ("engraçado pequeno pénis preto e coriáceo" e "a tua saliva sabe a chá fraco") do que com o meu
Eu profundo, ser-me-ia grato pensar que não existem mágoas profundas de qualquer dos lados. Como Moira Sillito, a heroína do primeiro romance de Sally Klee, diz
para consigo no funeral do marido: "Tudo muda." Está a calma, afirmativa e, todavia e em última análise, trágica Moira a citar conscientemente mal Yeats? Por isso,
sem ressentimentos duradouros, espero, pensei quando, esta tarde, levei os meus poucos objectos pessoais do espaçoso quarto de Sally Klee para o meu pequeno quarto
no último andar da casa. Sim, gosto muito de subir escadas, e parti sem um murmúrio. Na verdade (negá-lo para quê?), fui mandado embora, mas tinha as minhas próprias
razões para abandonar aqueles lençóis. Esta ligação, apesar de todas as suas delícias, estava a envolver-me demasiado profundamente nos problemas criativos de Sally
Klee, e só um gesto final de bem-intencionado voyeurismo me podia mostrar até que ponto eu pisava terreno desconhecido. A gestação artística é um assunto privado
e a minha proximidade era, e talvez ainda seja, obscena. O olhar de Sally Klee ergue-se da mesa e, durante um momento incomensurável, encontra-se com o meu. Com
um ligeiro movimento afirmativo da cabeça, indica-me que está pronta para tomar o café.
Sally Klee e eu sorvemos o nosso café num "silêncio prenhe". É pelo menos assim que Moira e o seu marido, Daniel, um jovem e promissor executivo de uma fábrica local
de engarrafamento, sorvem o seu chá e digerem a notícia de que não existem quaisquer razões clínicas para que, entre eles, sejam incapazes de ter um filho. Mais
tarde, nesse mesmo dia, decidem tentar (uma palavra adequada, parecia-me), de novo, ter um bebé. Pessoalmente falando, sorver é uma coisa em que me distingo, mas
o silêncio, seja de que natureza for, faz-me sentir pouco à vontade. Seguro a chávena a vários centímetros da minha cara e impulsiono os lábios na direcção da sua
borda, num beicinho cativante e afilado. Simultaneamente, reviro os olhos. Tempos houve - lembro-me em particular da primeira ocasião - em que todo esse processo
provocava um sorriso nos lábios menos flexíveis de Sally Klee. Agora distingo-me desconfortavelmente, e, quando os meus globos oculares voltam a estar virados para
o mundo, não vejo sorriso nenhum, mas sim os dedos pálidos e glabros de Sally Klee a tamborilar na superfície polida da mesa. Ela enche de novo a chávena, levanta-se
e abandona a sala, deixa-me a ouvir os seus passos na escada.
Embora eu fique cá em baixo, acompanho-a em cada centímetro do caminho - já disse que a minha proximidade é obscena. Ela sobe a escada, entra no seu quarto, senta-se
à sua mesa. De onde estou sentado oiço-a meter na máquina de escrever uma folha de papel mate, branco, formato A4, de 61 gramas, exactamente o mesmo papel em que,
sem esforço, compôs o seu primeiro romance. Certificar-se-á de que a máquina está regulada para dois espaços. Só as cartas para os amigos, o agente e o editor são
escritas a um espaço. Decididamente, carrega na tecla vermelha que, quando houver palavras para o rodear, permitirá que um vazio certo, branco-mate, preceda a sua
primeira frase. Instala-se na casa um silêncio terrível; eu começo a torcer-me na cadeira, sai-me da garganta um som agudo involuntário. Há dois anos e meio que
Sally Klee luta, não com palavras e frases, não com ideias, mas sim com forma, ou melhor, com táctica. Deveria, por exemplo, quebrar o silêncio com um conto, desenvolver
uma única ideia com frágil elegância e controlo total? Mas que única ideia, que frase, que palavra? Além disso, os bons contos são notoriamente uma coisa difícil
de escrever, talvez mais difícil do que os romances, e contos medíocres não faltam por aí. Talvez, então, outro romance a respeito de Moira Sillito. Sally Klee fecha
os olhos, olha com atenção para a sua heroína e descobre mais uma vez que já escreveu tudo quanto sabe sobre ela. Não, um segundo romance terá de libertar-se do
primeiro. Que tal um romance passado (hesitante sugestão minha) nas selvas da América do Sul? Que ridículo! O quê, então? Moira Sillito olha fixamente Sally Klee
da página em branco. Escreve a meu respeito, diz, simplesmente. Mas não posso, grita, alto, Sally Klee, não sei mais nada a teu respeito. Por favor, insiste Moira.
Deixa-me em paz, grita Sally Klee, mais alto do que antes. A meu respeito, meu, teima Moira. Não, não, berra Sally Klee, não sei nada, detesto-te. Deixa-me em paz!
Os gritos de Sally Klee rompem muitas horas de silêncio tenso e fazem-me levantar, trémulo. Quando me habituarei eu a estes terríveis sons que fazem que o próprio
ar se dobre e torça de tensão? Numa retrospecção mais serena, recordarei a famosa xilogravura de Edward Munch, mas agora cirando pela sala de jantar, incapaz de
abafar os guinchos agitados que brotam de mim em momentos de pânico ou excitação e que, aos ouvidos de Sally Klee, diminuem a minha credibilidade romântica. E à
noite, quando Sally Klee grita durante o sono, os meus próprios guinchos patéticos tornam-me incapaz de proporcionar conforto. Moira também tem pesadelos, isso está
estabelecido, com deprimente economia de palavras, na primeira linha do primeiro romance de Sally Klee: Nessa noite, a pálida Moira Sillito levantou-se, gritando,
da cama... O Yorkshire Post foi um dos poucos jornais a reparar nesta entrada, mas, lamentavelmente, achou-a "vigorosa em excesso". Moira, evidentemente, tem um
marido para a sossegar, e ao fundo da segunda página está a "dormir como uma criança pequena nos braços fortes do jovem". Numa recensão inesperada, a revista feminina
Refractory Girl cita esta frase para demonstrar a redundância tanto do "pequena" como do "sexismo banal" do romance. No entanto, acho a frase pungente, tanto mais
que descreve o próprio consolo que eu anseio proporcionar pela calada da noite à sua criadora.
Silencia-me o arrastar de uma cadeira. Agora Sally Klee descerá, irá à cozinha encher a chávena de café frio, simples, e depois regressará à sua secretária. Amarinho
para a chaise-longue e instalo-me lá, numa atitude de simiesca preocupação, para o caso de ela espreitar para a sala. Esta noite passa sem olhar, brevemente emoldurado
o vulto no vão da porta aberta, enquanto a chávena, a bater asperamente no pires, anuncia o seu desgraçado estado de nervosismo. De novo lá em cima, oiço-a retirar
a folha de papel da máquina de escrever e substituí-la por uma nova. Suspira e carrega na tecla vermelha, afasta o cabelo dos olhos e começa a escrever à sua velocidade
certa e eficiente de quarenta palavras por minuto. A casa enche-se de música. Estendo as pernas na chaise-longue e mergulho num sono pós-prandial.
Familiarizei-me com as provações rituais de Sally Klee durante a minha breve residência no seu quarto. Eu deitava-me na cama e ela sentava-se na sua cadeira, cada
um, à sua maneira diferente, sem fazer nada. Eu deleitava-me, eu felicitava-me hora a hora com a minha recente promoção de mascote a amante, e, deitado de costas,
com os braços entrelaçados atrás da cabeça e as pernas cruzadas, especulava quanto às probabilidades de uma promoção ainda maior, de amante a marido. Sim, via-me
de caneta de tinta permanente cara na mão, a assinar contratos de compras a prestações para a minha bonita mulher. Aprenderia a pegar numa caneta. Seria o homem
habilidoso da casa, amarinhando por algerozes com babosa solicitude marital para observar as goteiras do telhado, suspendendo-me de candeeiros para redecorar o tecto.
Indo até ao pub à noitinha, com as minhas credenciais de marido, para arranjar novos amigos, inventando um apelido para mim próprio, a fim de o dar à minha mulher,
habituando-me a usar chinelos em casa e talvez até peúgas e sapatos na rua. De regras e leis genéticas o que sabia era muito pouco para me permitir reflectir acerca
das possibilidade de progenitura, mas estava decidido a consultar autoridades médicas que, por sua vez, informariam Sally do seu destino. Entretanto ela estava sentada
diante da sua página em branco, pálida de estarrecer, levantando Moira Sillito, mas silenciosa e imóvel, avançando inevitavelmente para a crise que a faria erguer-se
e a impeliria para o andar de baixo, a fim de se abastecer de café frio. Nos primeiros tempos lançava na minha direcção sorrisos encorajadores nervosos e éramos
felizes. Mas quando vim a saber da agonia por trás do seu silêncio, os meus guinchos empáticos -como ela haveria de insinuar- tornaram-lhe ainda mais difícil a concentração
e os sorrisos na minha direcção acabaram.
Acabaram os sorrisos e, portanto, acabaram de igual modo as minhas especulações. Não sou, como já devem ter compreendido, indivíduo para procurar confrontos. Imaginem-me
antes como capaz de aspirar as gemas dos ovos sem danificar as cascas; lembrem-se da minha habilidade para sorver. Tirando os meus ruídos idiotas, que eram mais
evolutivos do que pessoais, não dizia nada. Uma noite, já tarde, vencido por uma súbita intuição, pulei para a casa de banho minutos depois de Sally Klee de lá ter
saído. Fechei a porta à chave, empoleirei-me na borda da banheira, abri o armário pequeno e perfumado onde ela guardava os seus objectos femininos mais íntimos e
obtive a confirmação do que já sabia. A sua intrigante tampinha continuava dentro da sua ostra de plástico, polvilhada e, não sei explicar como, desaprovadora em
relação a mim. Passei então rapidamente, nas longas tardes e noites na cama, da especulação para a nostalgia. O longo prelúdio de exploração mútua, ela a contar
os meus dentes com a sua esferográfica, eu a procurar em vão lêndeas no seu luxuriante cabelo. As suas observações brincalhonas sobre o comprimento, a cor e a textura
do meu membro, o meu fascínio pelos seus cativantemente inúteis dedos dos pés e pelo seu recatadamente oculto ânus. A nossa primeira "vez" (a palavra e de Moira
Sillito) foi um pouco ensombrada pela incompreensão, em grande parte resultante da minha presunção de que procederíamos de posteriori. Essa questão depressa se resolveu
e adoptámos o "cara-a-cara" único de Sally Klee, uma posição que ao princípio achei, como tentei dar a entender à minha amante, demasiado repleta de comunicação,
um pouco demasiado "intelectual". No entanto, adaptei-me rapidamente e, duas tardes não eram ainda passadas, estava a recordar:
E imagens nos nossos olhos obter
Era toda a nossa propagação.
Felizmente não era, nesse estádio, exactamente toda. "A experiência de enamoramento é comum, mas apesar disso inefável." Estes sentimentos são manifestados a Moira
Sillito pelo seu cunhado, o único membro de uma grande família que frequentou uma universidade. Devo acrescentar que Moira, embora conheça a letra dos hinos cantados
nos seus tempos de escola, não sabe o que "inefável" significa. Após um silêncio apropriado, pede licença, corre ao andar de cima, entra no quarto, encontra a palavra
num dicionário de bolso, corre pela escada abaixo para a sala e diz, tranquilamente, ao transpor a porta: "Não, não é. Enamorar-se é como flutuar sobre nuvens."
Como o cunhado de Moira Sillito, eu estava enamorado e, como costuma acontecer, a minha infatigabilidade em breve começou a oprimir Sally Klee; tão-pouco foi preciso
muito tempo para ela se queixar, também, de que o atrito dos nossos corpos lhe provocava um problema de pele e que a minha "semente exótica" (milho exótico, brinquei
inutilmente na altura) estava a agravar-lhe a candidíase. Isso e a minha "mal-dita algaraviada na cama" precipitaram o fim do caso, os oito dias mais felizes da
minha vida. Completo dois anos e meio em Abril.
Depois da especulação, depois da nostalgia, e antes da minha mudança para o quarto lá de cima, dispus de vagar para fazer a mim próprio certas perguntas relacionadas
com as provações criativas de Sally Klee. Por que motivo, ao fim de um longo dia de inactividade diante de uma folha de papel em branco, regressava ela ao quarto,
à noite, com o seu café frio e substituía essa folha por outra? Que começava ela então a dactilografar tão fluentemente que cada dia tomava apenas uma folha de papel,
que era depois arquivada com uma grossa resma de outras folhas iguais? E por que motivo essa súbita actividade a não aliviava do seu sofrimento silencioso? Por que
se levantava ela da sua mesa, todas as noites, ainda sofrida, preocupada com o vazio da outra folha? O barulho do teclado era sem dúvida um alívio para mim, e invariavelmente,
logo à primeira batida, eu mergulhava num sono grato. Não me deixei eu adormecer no cristalino presente, na chaise-longue cá de baixo? Uma noite, em vez de adormecer
esgueirei-me para a cadeira de Sally, com um pretexto afectuoso, e vislumbrei as palavras "caso em que toda a situação podia ser considerada do" antes de a minha
amante - pois então ainda o era - me beijar docemente na orelha e me empurrar ternamente na direcção da cama. Esta construção gramatical assaz prosaica embotou a
minha curiosidade, mas apenas durante um ou dois dias. Que toda a situação? Que toda a situação podia ser considerada do quê? Poucos dias depois, a ostra de plástico
deixara de produzir a sua pérola de borracha e eu comecei a achar que, como amante repudiado de Sally Klee, tinha o direito de conhecer o conteúdo daquilo que começara
a considerar um diário pessoal. De conluio, a curiosidade e a vaidade prepararam um bálsamo para apaziguar a minha discordante consciência e, como um actor desempregado,
comecei a ansiar por ver uma crítica favorável a meu respeito, ainda que se reportasse, por assim dizer, a uma produção passada.
Enquanto Sally Klee estava sentada à sua mesa, eu estivera ali regaladamente deitado, a planear o seu futuro e o meu; depois fiquei deitado cheio de remorsos, e
agora, com a nossa incomunicabilidade firmemente estabelecida, estou deitado à espera. Ficava acordado pela noite dentro, a fim de a ver abrir uma gaveta da secretária,
tirar de lá uma desbotada pasta azul, de molas, retirar a folha concluída da máquina de escrever, colocá-la na pasta, voltada para baixo, a fim de que (deduzi através
dos olhos semicerrados) os primeiros registos ficassem à frente, fechar a pasta e devolvê-la à sua gaveta, fechar a gaveta e levantar-se, de olhos mortiços de exaustão
e frustração, queixo frouxo, espírito esquecido do amante-tornado-espião que fingia dormir na sua cama, fazendo os seus cálculos silenciosos. Embora muito longe
de serem altruístas, as minhas intenções também não eram puramente egoístas. Naturalmente, tinha esperança de que, conquistando o acesso aos mais íntimos segredos
e mágoas de Sally Klee, poderia, concentrando a minha força contra pontos seleccionados da sua fragilidade clandestina, persuadi-la de que problemas de pele, candida
e algaraviada eram preços baixos a pagar pelo meu afecto ilimitado. Por outro lado, não pensava apenas em mim próprio. Passava e repassava metros e metros de filme
fantasioso que me mostravam mergulhado na leitura do diário enquanto a sua autora estava ausente de casa; a confessar a Sally Klee, quando ela regressava, a minha
pequena traição e felicitando-a com um abraço apaixonado antes de ela ter tempo de tomar fôlego, por ter escrito uma obra-prima, um colossal e devastador percurso
psíquico; ela a cair na cadeira que antecipada e agilmente lhe ofereço, os olhos a arregalarem-se e a cintilarem com a crescente compreensão da verdade do que eu
digo; nós aqui num primeiro plano compacto, estudando o diário a altas horas da noite; eu a aconselhar, a orientar, a rever; o acolhimento arrebatado do editor ao
manuscrito ultrapassado pelo da crítica, e este, por sua vez, pelo do público comprador e leitor; a renovação da confiança de Sally Klee como escritora; a renovação,
mercê dos nossos esforços combinados, da nossa compreensão e do nosso amor mútuos... Sim, renovação, renovação, o tema do meu filme era todo e só renovação.
Só hoje se me ofereceu, finalmente, uma oportunidade. Sally Klee foi obrigada a visitar o seu contabilista na cidade. A fim de sublimar a minha excitação quase histérica,
prestei-lhe vários serviços amáveis a alta velocidade. Enquanto ela estava na casa de banho a arranjar o cabelo, ao espelho, revistei a casa à procura de horários
de autocarros e de comboios e meti-os por baixo da porta da casa de banho. Amarinhei pelo cabide do vestíbulo, colhi do seu ramo mais alto o lenço de seda vermelho
de Sally Klee e levei-lho a correr. Depois de ela sair de casa, porém, reparei que o lenço fora reposto no seu lugar. Se lho não tivesse oferecido, pensei, amuado,
enquanto, da janela do sótão, a observava na paragem do autocarro, ela tê-lo-ia muito provavelmente usado. O seu autocarro demorou muito tempo a chegar (ela devia
ter consultado os horários) e eu vi-a andar de um lado para o outro à volta do poste de cimento e por fim travar conversa com uma mulher que também esperava e tinha
uma criança às costas - espectáculo que me comunicou, através das empenas suburbanas, uma ânsia química de nostalgia genésica. Estava firmemente decidido a esperar
até ver o autocarro levar Sally Klee. Como Moira Sillito olhando, nos longos dias que se seguiram ao funeral do marido, uma fotografia do irmão dele, não desejava
parecer, nem aos meus próprios olhos, precipitado. O autocarro chegou e o passeio ficou súbita e manifestamente deserto. Tomado por um sentimento de perda momentâneo,
afastei-me da janela.
A secretária de Sally Klee é despretensiosa: equipamento de escritório padrão, do tipo do usado por administradores de hospitais e jardins zoológicos de categoria
média, sendo o seu constituinte essencial a madeira prensada. O desenho não podia ser mais simples. Uma superfície plana de escrita assenta em duas colunas de prateleiras
paralelas, e uma chapa de madeira envernizada que serve de costas ao conjunto. Eu reparara, havia muito, que as folhas dactilografadas eram guardadas na gaveta de
cima, do lado esquerdo, e a minha reacção inicial, ao descer do sótão e encontrá-la fechada à chave, foi mais de cólera do que de desespero. Não merecia eu, então,
confiança após tão longa intimidade, era então assim que uma espécie, na sua arrogância, tratava a outra? Como uma ofensa por omissão, todas as outras gavetas deslizaram
para fora como línguas zombeteiras e mostraram o seu estúpido conteúdo de material de papelaria. Perante esta traição (que mais fechara ela? O frigorífico? A estufa
das flores?) ao nosso passado compartilhado, achei o meu direito à desbotada pasta azul de molas inteira e absolutamente justificado. Fui à cozinha buscar uma chave
de parafusos e lancei-me à tarefa de soltar a delgada chapa de madeira que unia as costas da secretária. Com um som semelhante ao estalar de um chicote, soltou-se
um grande bocado ao longo de uma linha de fraqueza, deixando no seu lugar um feio buraco rectangular. Mas eu não estava preocupado com aparências. Introduzi a mão
profundamente, encontrei as costas da gaveta, insinuei os dedos mais para diante, encontrei a pasta, comecei a levantá-la e, se a sua aresta da frente não se tivesse
prendido num prego e entornado o seu conteúdo, qual enxame branco, no chão cheio de lascas de madeira, poderia ter-me felicitado por ter efectuado uma apropriação
impecável. Em vez disso, reuni tantas folhas quantas os meus pés puderam enviar para a minha mão direita num movimento contínuo e retirei-me para a cama.
Fechei os olhos e, ao jeito daqueles que, equilibrados na sanita, apertam fugazmente as fezes nos intestinos, prolonguei o momento. Por amor às lembranças futuras,
concentrei-me na natureza precisa das minhas expectativas. Tinha perfeita consciência da lei universal que predetermina uma discrepância entre o imaginado e o real
- preparei-me ate para uma decepção. Quando abri os olhos, um número encheu-me a visão: 54. Página 54. Em baixo, encontrei-me a meio de uma frase que tinha a sua
origem na página 53, uma frase sinistra na sua familiaridade: "disse Dave, limpando cuidadosamente os lábios com ele e colocando-o, amarrotado, no prato." Mergulhei
a cara na almofada, agoniado e atordoado com a apreensão da complexidade e sofisticação da espécie de Sally Klee e com a ignorância animalesca da minha. "Dave fitou
atentamente, à luz das velas, a sua cunhada e o marido dela, seu irmão. Falou serenamente. "E outros ainda consideram-no como um odor feminino forte (olhou de relance
para Moira)... excitante. Sugere sem dúvida actividade sexual de alguma..."" Atirei a folha para o lado e agarrei noutra, na página 96: "de terra bateu na tampa
do caixão, a chuva parou tão subitamente como começara. Moira afastou-se do grupo principal e vagueou pelo cemitério, lendo sem verdadeira compreensão as inscrições
das lápides. Sentia-se ligeiramente inebriada, como se tivesse visto um filme deprimente, mas fundamentalmente bom. Parou debaixo de um teixo, a arrancar distraidamente
pedacinhos de casca com as compridas unhas cor-de-laranja. Tudo muda, pensou. Um pardal, com as penas eriçadas por causa do frio, saltitava tristemente aos seus
pés." Nem uma frase, nem uma palavra modificada, tudo inalterado. Página 230: "'-tuar sobre nuvens?', repetiu Dave, irritadamente. 'Que significa isso, exactamente?
Moira baixou os olhos para unia imperfeição no desenho da tapeçaria de Bukbara e não disse nada. Dave atravessou a sala e pegou-lhe na mão. 'O que quis dizer quando
fiz a pergunta apressou-se a explicar, 'foi que tenho muitas coisas a aprender contigo. Sofreste tanto. Sabes tanto.' Moira soltou a mão para pegar na chávena de
chá morno e fraco. Pensou, desatenta: 'Porque desprezam os homens as mulheres?'"
Não fui capaz de ler mais. Acocorei-me na barra da cama, a puxar os pêlos do peito e a ouvir o forte tiquetaque do relógio no corredor do andar de baixo. Não era
a arte, então, nada mais do que um desejo de parecer atarefado? Não era nada mais do que um medo do silêncio, do tédio, que o matraquear meramente repetitivo do
teclado da máquina de escrever chegava para aquietar? Em resumo, tendo construído um romance, bastaria escrevê-lo de novo, passá-lo à máquina com cuidado, página
a página? (Tristemente, reciclei lêndeas do tronco para a boca.) No fundo do meu coração, sabia que bastaria e, sabendo-o, parecia saber menos do que jamais soubera.
Dois anos e meio em Abril próximo, na verdade! Era como se tivesse nascido anteontem.
Escurecia quando finalmente iniciei a tarefa de pôr os papéis por ordem e de os recolocar na pasta. Trabalhei depressa, voltando páginas com os quatro membros, impelido
menos pelo receio de que Sally Klee regressasse a casa cedo do que pela esperança obscura de que, restaurando a ordem, apagasse aquela tarde da minha mente. Introduzi
a pasta na sua gaveta pelas costas da secretária. Repus o segmento de madeira irregular com tachas pregadas com o salto de um sapato. Atirei as lascas de madeira
pela janela fora e empurrei a secretária para a parede. Acocorei-me no meio do quarto, com os nós dos dedos mal roçando a alcatifa, interrogando a penumbra e o assustador
zumbido do silêncio total à volta da minha cabeça... Agora estava tudo como estivera e como Sally Klee esperaria que estivesse - máquina de escrever, canetas, mata-borrão,
um narciso solitário a murchar - e, contudo, eu sabia o que sabia e não compreendia nada de nada. Eu era, simplesmente, indigno. Não desejava acender a luz e iluminar
as minhas recordações dos oito dias mais felizes da minha vida. Tacteei, por isso, na escuridão exclusiva dos quartos de dormir, vibrante de autocompaixão, até localizar
os meus poucos objectos - escova de cabelo, lima de unhas, espelho de aço inoxidável e palitos. A minha resolução de abandonar o quarto sem olhar uma única vez para
trás atraiçoou-me quando cheguei à porta. Voltei-me e espreitei para o interior, mas não consegui ver nada. Fechei a porta devagarinho e, no preciso momento em que
colocava a mão no primeiro degrau da escada do sótão, ouvi a chave de Sally Klee arranhar, à procura de apoio, a fechadura da porta principal.
Acordo do meu sono pós-prandial para o silêncio. Talvez o silêncio, o parar súbito da máquina de escrever de Sally Klee, me tenha acordado. A minha chávena de café,
vazia, pende ainda, pela asa, do meu dedo; um sarro viscoso de alimentos enlatados cobre-me a língua e um fio de saliva, escorrido da minha boca adormecida, mancha
o padrão paisley da chaise-longue. No fim de contas, o sono não resolve nada. Levanto-me, a coçar-me, e anseio pelos meus palitos (espinha de peixe numa bolsa de
camurça), mas agora eles estão no ponto mais alto da casa e para os ir buscar teria de passar pela porta aberta de Sally Klee. F. porque não haveria eu de passar
pela sua porta aberta? Por que não haveria eu de ser visto e tomado em consideração nesta casa? Acaso sou invisível? Não mereço, pela minha mudança silenciosa, auto--anuladora,
para outro quarto um simples gesto de reconhecimento, a breve troca de acenos, suspiros e sorrisos própria de dois seres que conheceram, ambos, sofrimento e perda?
Dou comigo parado em frente do relógio do corredor, a observar o ponteiro pequeno a avançar lentamente para as dez. A verdade é que não passo pela porta dela porque
me dói ser ignorado, porque sou invisível e insignificante. Porque anseio por passar pela porta dela. Os meus olhos desviam-se para a porta principal c fixam-se
aí. Partir, sim, recuperar a minha independência e dignidade, pôr-me a caminho pela City Ring Road, com as minhas coisas apertadas contra o peito, as estrelas infinitas
lá em cima, muito altas, e as canções dos rouxinóis a soar aos meus ouvidos. Sally Klee a ficar cada vez mais para trás, sem se importar comigo para nada, não, nem
eu com ela. Trotar descuidado na direcção da alvorada cor-de-laranja e continuar pelo dia seguinte fora, e pela noite seguinte, atravessando rios e embrenhando-me
em florestas, procurar e encontrar um novo amor, um novo lugar, uma nova função, uma nova vida. Uma nova vida. As próprias palavras são um peso morto nos meus lábios,
pois que nova vida poderia ser mais exaltante do que a antiga, que nova função poderia rivalizar com a de ex-amante de Sally Klee? Nenhum futuro pode igualar o meu
passado. Volto-me para a escada e quase imediatamente começo a perguntar-me se não serei capaz de me convencer das possibilidades alternativas da situação. Esta
tarde, sob a influência nefasta da minha própria insuficiência, agi com a melhor das intenções, no interesse de ambos. Sally Klee, ao regressar a casa de um dia
agitado, deve ter entrado no quarto e descoberto a falta de certos - poucos - objectos familiares, e deve ter sentido, então, que a sua única fonte de conforto saíra
do seu lado sem uma palavra. Sem uma palavra! As minhas mãos e os meus pés estão no quarto degrau. Certamente é ela, e não eu, que está magoada. E o que são explicações
senão coisas silenciosas, invisíveis, na nossa cabeça? Eu apropriei-me de mais do que do meu justo quinhão de prejuízo e ela está silenciosa porque está amuada.
E ela que anseia por explicações e por ser tranquilizada. Ela que anseia por ser estimada, afagada, que lhe respirem para cima. Evidentemente! Como era possível
que eu não tivesse compreendido isso durante a nossa refeição silenciosa? Ela precisa de mim. Atinjo esta compreensão como um alpinista um cume virgem e chego à
porta aberta de Sally Klee um pouco ofegante, menos do esforço do que do triunfo.
Envolvida pela luz do candeeiro de secretária, está sentada de costas para mim, cotovelos apoiados na mesa, cabeça apoiada pelas mãos em taça sob o queixo. A folha
de papel metida na máquina está congestionada de palavras. Falta-lhe, no entanto, ser puxada do carreto e colocada na pasta de molas. Ali, parado directamente atrás
de Sally Klee, acode--me uma recordação muito viva da minha mais tenra infância. Fito a minha mãe, que está acocorada de costas para mim, e, pela primeira vez na
minha vida, vejo para lá do seu ombro, como através de uma cortina de bruma, vultos espectrais do outro lado da chapa de vidro, apontando e mexendo silenciosamente
a boca. Entro sem ruído no quarto e agacho-me a alguns palmos atrás da cadeira de Sally. Agora que estou aqui, parece-me impossível a ideia de que ela alguma vez
se volte na cadeira e repare em mim.
Dois fragmentos: Março de 199
Sábado
Perto do alvorecer, Henry acordou, mas não abriu os olhos. Viu uma massa luminosa dobrar-se sobre si mesma, resíduo de um sonho de que não conseguia lembrar-se.
Formas pretas sobrepostas, com braços e pernas, subiam e distanciavam-se, pairando como corvos contra um céu vazio. Quando abriu os olhos, o quarto estava mergulhado
numa luz azul-escura e ele fitava os olhos da filha. Ela estava parada junto da cama, com a cabeça ao nível da sua. Os pombos arrulhavam e agitavam-se no parapeito
da janela. Pai e filha fitaram-se, e nenhum deles falou. Soavam passos a afastar-se, na rua. Os olhos de Henry semicerraram-se. Os de Marie tornaram-se maiores;
ela mexeu levemente os lábios, o seu corpo pequenino estremeceu sob a camisa de dormir branca. Observava o pai, que voltava a cair no sono.
- Tenho uma vagina - disse, passados momentos.
Henry mexeu as pernas e acordou de novo.
- Tens.
- Sou, portanto, uma menina, não sou?
Henry soergueu-se, apoiado no cotovelo.
- Agora volta para a cama, Marie. Estás a apanhar frio.
Ela afastou-se do leito, do seu alcance, e parou voltada
para a janela, voltada para a luz cinzenta.
- Os pombos são meninos ou meninas?
- Meninos e meninas - respondeu Henry, deitado de costas.
Marie aproximou-se mais do som dos pombos e escutou.
- Os pombos meninas têm uma vagina?
- Têm.
- Têm-na onde?
- Onde te parece?
Ela meditou, sem deixar de escutar. Olhou para trás, para ele, por cima do ombro.
- Debaixo das penas?
- Sim.
Marie riu alegremente. A luz cinzenta clareava.
- Agora toca para a cama - disse Henry, com fingida insistência.
Ela voltou para trás.
- Para a tua cama, Henry - exigiu. Ele chegou-se para o lado, para lhe dar espaço, e afastou a roupa para trás. Marie subiu para a cama e ele viu-a adormecer.
Uma hora depois, Henry levantou-se sem acordar a filha. Meteu-se debaixo do chuveiro fraco e em seguida detcve-se um momento diante de um grande espelho e observou
o seu corpo nu a escorrer água. Iluminado de um lado pela luz pálida da primeira claridade, pareceu aos seus próprios olhos esculpido, monumental, capaz de proezas
sobre-humanas.
Vestiu-se apressadamente. Quando deitava o café, na cozinha, ouviu vozes altas e passos na escada, do lado de fora do seu andar. Maquinalmente, olhou pela janela.
Caía uma chuva leve e a luz amortecia. Foi ao quarto, para ver pela janela. Atrás dele, Marie continuava a dormir. O céu estava coberto e ameaçador.
Até onde podia ver em qualquer das direcções, a rua estava a encher-se de pessoas que se preparavam para recolher a água da chuva. Desenrolavam lonas impermeabilizadas,
trabalhando aos pares, em família. Escureceu mais. As pessoas estendiam as lonas de um lado ao outro da rua e prendiam as extremidades a algerozes e gradeamentos.
Rebolavam barris para o meio da rua, para recolherem a água das lonas. Apesar de toda essa actividade, havia silêncio, um silêncio competitivo, cioso. Como de costume,
estalavam discussões. O espaço era limitado. Por baixo da janela de Henry, duas pessoas lutavam. Ao princípio foi difícil distingui-las. Depois viu que uma era uma
mulher de forte constituição e a outra um homem franzino, de menos de trinta anos. Cada um deles tinha os braços cerrados à volta do pescoço do outro; moviam--se
de lado, como um caranguejo monstruoso. A chuva caía numa cortina contínua e os lutadores eram ignorados. As suas lonas jaziam em monte aos pés deles; o espaço disputado
estava a ser ocupado por outros. Agora lutavam apenas por orgulho. Algumas crianças juntavam-se à sua volta para observarem. Rolaram para o chão. A mulher ficou
subitamente por cima, pregando o homem ao chão com o joelho comprimido contra a sua garganta. As pernas dele pedalaram inutilmente. Um pequeno cão, de membro erecto
e rosado na obscuridade, lançou-se na refrega. Prendeu a cabeça do homem entre as patas dianteiras. Os seus quadris vibravam como cordas tangidas e a língua rosada
irrompeu-lhe, veloz, da boca. As crianças riram-se e enxotaram-no.
Marie levantara-se da cama quando ele se voltou da janela.
- Que estás afazer, Henry?
- Estou a ver a chuva - respondeu-lhe, e ergueu-a nos braços e levou-a para a casa de banho.
Era uma hora a pé para o trabalho. Pararam uma vez, a meio da ponte de Chelsea. Marie desceu da sua cadeirinha e Henry pegou-lhe para ela poder olhar para baixo,
para o rio. Era um ritual quotidiano. Ela olhava em silêncio e agitava--se um pouco quando já lhe bastava. Milhares de pessoas caminhavam todas as manhãs na mesma
direcção. Henry raramente reconhecia um amigo, mas se isso acontecia seguiam o caminho juntos, em silêncio.
O Ministério erguia-se de uma vasta planície de pavimento. A cadeirinha avançava aos solavancos sobre sulcos verdes de ervas. As pedras estalavam e afundavam-se.
A planície estava coberta de lixo humano. Hortaliças podres e pisadas, caixas de cartão espalmadas para servirem de camas, restos de fogueiras e as carcaças de cães
e gatos assados, latas enferrujadas, vómitos, pneus velhos, excrementos de animais. Impossível recordar agora um sonho antigo de linhas horizontais convergindo na
perpendicular arrojada de aço e cimento.
O ar sobre a fonte estava cinzento de moscas. Homens e rapazes iam ali acocorar-se todos os dias, no largo rebordo de cimento, para defecarem. À distância, ao longo
de um dos lados da planície, dormiam ainda várias centenas de homens e mulheres. Estavam embrulhados em mantas de riscas vivamente coloridas, que durante o dia demarcavam
o espaço do negócio de cada um. Desse grupo vinha, trazido pelo vento, o som de uma criança a chorar. Ninguém se mexia.
- Por que está aquele bebé a chorar? - gritou Marie de súbito, e a sua própria voz perdeu-se no grande e miserável lugar.
Apressaram o passo, estavam atrasados. Eram pequenos, os únicos vultos em movimento naquela vastidão.
Para poupar tempo, Henry desceu a correr os degraus para a cave, com Marie ao colo. Antes mesmo de transpor as portas giratórias, ouviu alguém dizer-lhe:
- Gostamos que elas cheguem a horas.
Ele virou-se e pôs Marie no chão. A chefe do grupo de recreio pousou a mão na cabeça de Marie. Tinha mais de um metro e oitenta de altura e era muito magra, com
os olhos profundamente afundados nas órbitas e o rendilhado de vasos sanguíneos rebentados a dançar-lhe nas faces. Quando voltou a falar, esticou muito os lábios
à volta dos dentes e pôs-se em bicos de pés.
- E, se faz favor... as mensalidades. Importa-se de acertar as contas agora?
Henry estava três meses atrasado. Prometeu trazer o dinheiro no dia seguinte. Ela encolheu os ombros e pegou na mão de Marie. Ele viu-as entrar por uma porta e vislumbrou
duas crianças negras num abraço violento. O barulho agudo e ensurdecedor estancou quando a porta se fechou sobre elas.
Quando, trinta minutos depois, Henry começou a passar à máquina a segunda carta da manhã, já não se lembrava do conteúdo da primeira. As minutas estavam escritas
na caligrafia garatujada de um funcionário superior qualquer. Quando chegou ao fim da décima quinta carta, pouco antes do almoço, não se lembrava do seu começo.
E não esteve para olhar para o alto da página para o ver. Levou as cartas para um escritório mais pequeno e entregou-as a alguém, sem ver quem as aceitava. Voltou
para a sua secretária, para aguardar os poucos minutos, apenas, que ainda faltavam para o almoço. Todos os dactilógrafos fumavam enquanto trabalhavam e o ar estava
denso e áspero do fumo - não só o daquele dia, como também o de dez mil dias anteriores e de outros dez mil que viriam. Parecia não haver saída. Henry acendeu um
cigarro e esperou.
Desceu os dezasseis andares para a cave e foi engrossar uma longa fila de pais - principalmente de mães - que iam ver os filhos durante a hora do almoço. Era uma
bicha murmurante de gente suplicante. Iam ali por necessidade, não por dever. Falavam uns com os outros, em voz baixa, a respeito dos filhos, enquanto a fila se
arrastava na direcção das portas giratórias. Era preciso assinar, no registo, a saída de cada criança. A chefe do grupo de recreio estava parada junto das portas,
impondo com a sua simples presença a necessidade de silêncio e ordem. Os pais obedeciam e assinavam. Marie esperava-o logo do lado de dentro das portas, e quando
o viu ergueu os punhos fechados por cima da cabeça e deu uns passinhos de dança inocentes. Henry assinou e pegou-lhe na mão.
O céu clareara e das lajes subia um calor doentio. A vasta planície fervilhava agora, ocupada por uma colónia de formigas. Sobre ela pairava uma Lua pálida e falciforme,
nítida contra o céu azul. Marie subiu para a cadeirinha, que Henry empurrou através das multidões.
Todos quantos tinham alguma coisa para vender se amontoavam na planície e dispunham as suas mercadorias sobre as mantas coloridas. Uma velha vendia sabonetes meio
usados, dispostos num tapete amarelo-vivo como pedras preciosas.
Marie escolheu um pedaço de sabonete verde, do tamanho e formato de um ovo de galinha. Henry regateou com a mulher e fê-la descer o preço para metade do que começara
por pedir. Enquanto trocavam dinheiro por sabonete, a mulher fez uma série de caretas amuadas e Marie recuou, a fugir dela com surpresa. A velha sorriu, meteu a
mão na mala e retirou um pequeno presente. Mas Marie subiu para a cadeirinha e recusou-se a aceitá-lo.
- Vá-se embora - gritou à velha -, vá-se embora.
Seguiram o seu caminho. Henry dirigia-se para um canto distante da planície, onde havia espaço para se sentarem e almoçarem. Fez um largo desvio à roda da fonte,
sobre cujo rebordo estavam empoleirados homens, como aves depenadas.
Sentaram-se num parapeito que corria ao longo de um dos lados da planície e comeram pão com queijo. Por baixo deles estendiam-se os edifícios desertos de Whitehall.
Henry fez a Marie perguntas a respeito do grupo de recreio: corriam boatos de doutrinação, mas as suas perguntas foram descontraídas e pouco insistentes.
- A que brincaste hoje?
Ela falou-lhe excitadamente de um jogo com água e de um rapaz que chorara, um rapaz que chorava sempre. Ele tirou um pequeno mimo da algibeira, uma coisa fria, amarela
e misteriosamente curva, e depositou-a nas mãos da filha.
- Que é, Henry?
- E uma banana. Come-se. - Mostrou-lhe como se descascava e explicou-lhe como cresciam, em cachos, num país distante. Passado um bocado, perguntou: - A senhora leu-vos
alguma história, Marie?
Ela voltou-se e olhou por cima do parapeito.
- Leu - respondeu, momentos depois.
- A respeito de quê?
Ela soltou uma risada.
- A respeito de bananas... bananas... bananas.
Iniciaram a caminhada de quase um quilómetro de regresso ao Ministério, e Marie foi entoando baixinho, para si, a sua nova palavra.
Muito à frente, a multidão estava a reunir-se à volta de um ponto de interesse. Passaram por eles, a correr, algumas pessoas, que começaram a formar um círculo à
volta de um ritmo compulsivo, à volta de um homem com um tambor. Quando Henry e Marie chegaram, o círculo tinha dez pessoas de profundidade e os gritos do homem
soavam abafados. Henry empoleirou Marie nos ombros e foi-se infiltrando na multidão. As pessoas reconheceram-no, pelo vestuário, como funcionário do Ministério e
desviaram-se indiferentemente. Agora já era possível ver. No meio do círculo estava um tambor de petróleo, preto e baixo. Uma pele de animal cobria, esticada, uma
das extremidades, e o homem a seu lado, um indivíduo do tamanho de um grande urso pesado, batia nele com o punho nu. Uma serapilheira que fora mergulhada em tinta
vermelha enrolava-se-lhe à volta do corpo como uma toga. O seu cabelo era vermelho e áspero e chegava-lhe quase à cintura. Os pêlos dos seus braços nus eram densos
c emaranhados como a pelagem de um animal. Até os seus olhos eram vermelhos.
Não gritava palavras. A cada pulsação do tambor, soltava um rugido fundo e alto. Observava atentamente qualquer coisa na multidão, e Henry, seguindo a direcção do
seu olhar, viu uma grande lata ferrugenta a passar de mão em mão e ouviu o tilintar de moedas. Depois viu, na multidão, um fulgor baço de luz reflectida. Era uma
espada comprida, ligeiramente curva, com o punho ornamentado. As pessoas estendiam as mãos para lhe tocar, para se certificarem da sua substancialidade. A espada
movia-se em direcção oposta à da lata de bolachas. Marie puxou a orelha de Henry e exigiu explicações. Ele abriu caminho mais para a frente, até se encontrarem na
segunda fila. A lata aproximou-se. Henry sentiu os ferozes olhos vermelhos do homem postos nele e deitou na lata três pequenas moedas. O homem percutiu o tambor
e rugiu e a lata seguiu adiante.
Marie estremeceu nos ombros de Henry e ele afagou-lhe os joelhos nus para a confortar. De súbito, o homem começou a proferir palavras, um canto tosco, de duas notas.
As palavras eram pesadas e mal articuladas. Henry conseguiu decifrá-las e, no mesmo instante, viu a rapariga pela primeira vez. "Sem sangue... sem sangue... sem
sangue..."
Ela estava de pé, afastada, a um lado. Teria os seus dezasseis anos, estava nua da cintura para cima e descalça, absolutamente imóvel, com as mãos caídas ao longo
do corpo, pés unidos, olhos fixos no chão alguns palmos à sua frente. Também o seu cabelo era vermelho, mas fino e cortado curto. A volta da cintura trazia um pedaço
de serapilheira. Era tão pálida que não custava muito acreditar que não tivesse sangue.
O tambor emitia agora uma pulsação arterial firme, e a espada foi devolvida ao homem. Ele ergueu-a acima da cabeça e olhou fixamente para a multidão. Alguém saído
do meio das pessoas levou-lhe a lata de bolachas ferrugenta. Ele olhou para o interior e abanou a grande cabeça. A lata voltou à multidão e o ritmo do tambor acelerou-se.
- Sem sangue - gritou o homem. - Atravessa-lhe a barriga, sai pelas costas, sem sangue. - A lata apareceu de novo nas suas mãos, e de novo ele a recusou. A multidão
estava desesperada. Os de trás empurravam, abriam caminho para a frente, a fim de deitarem dinheiro na lata; os que já tinham contribuído gritavam aos que ainda
não tinham. Estouravam discussões, mas a lata ia-se enchendo. Quando regressou pela terceira vez foi aceite e a turba suspirou de alívio. O bater do tambor cessou.
Com um movimento da cabeça, o homem ordenou à rapariga, certamente sua filha, que se dirigisse para o centro do círculo. Ela ficou parada, com o tambor de petróleo
entre si e o pai. Henry viu-lhe as pernas tremer. A multidão estava silenciosa, desejosa de não perder pitada. Os gritos dos vendedores chegavam-lhes aos ouvidos
através da planície, como vindos de outro mundo. Marie gritou subitamente, numa voz que o medo tornava fina:
- Que vai ela fazer?
Henry pediu-lhe que se calasse; o homem estava a colocar a espada nas mãos da filha. Não tirava os olhos dela, e a rapariga parecia incapaz de olhar para outro lado
que não para a cara do pai. Ele disse-lhe qualquer coisa sibilante ao ouvido e ela ergueu a ponta da espada para o ventre. O pai baixou-se e despejou a lata de bolachas
num saco de cabedal que lhe pendia do ombro. A espada tremia nas mãos da rapariga e a turba agitava-se impacientemente.
Henry sentiu um calor inesperado alastrar-lhe pelo pescoço e escorrer-lhe pelas costas. Marie urinara-se. Desceu-a para o chão e, nesse momento, instigada pelo pai,
a rapariga enterrou meia polegada da ponta da espada na barriga. Marie gritou, enfurecida. Bateu com os punhos nas pernas de Henry.
- Sobe-me - soluçou.
Uma pequena moeda escarlate, brilhante à luz do Sol, alastrou à roda da ponta da espada.
Alguém na multidão rosnou, sarcástico:
- Sem sangue!
O pai colocou o saco de cabedal a bom recato, debaixo da toga. Avançou para a espada como se fosse atravessar com ela o corpo da filha. Ela caiu aos seus pés e a
espada bateu ruidosamente no chão. O homem corpulento apanhou-a e sacudiu-a por cima da cabeça.
- Porcos! - gritou. - Porcos gananciosos!
A multidão estava enfurecida e gritou por sua vez:
- Aldrabão... assassino... apanhou o nosso dinheiro...
Mas estavam com medo, pois quando ele levantou a filha e a arrastou atrás de si dispersaram a fim de lhe abrirem caminho. O homem brandia a espada à altura da cabeça.
- Porcos! - continuava a gritar. - Arredem, seus porcos!
Uma pedra atirada com força atingiu-o num ombro. Ele virou-se, largou a filha e avançou para a multidão como louco, fazendo girar a espada em enormes círculos furiosos.
Henry pegou em Marie e fugiu com o resto das pessoas. Quando olhou para trás, o homem estava muito longe, a incitar a filha a segui-lo. A multidão deixara-o em paz
com o seu dinheiro. Henry e Marie voltaram para trás e encontraram a cadeirinha caída de lado. Uma das pegas estava torcida.
Ao fim do dia, na longa caminhada para casa, Marie foi muito sossegada e sem fazer perguntas. Henry sentia-se preocupado com cia, mas estava tão cansado que não
lhe poderia valer. Percorrido o primeiro quilómetro e meio, ela adormeceu. Ele atravessou o rio pela ponte Vauxhall e parou a meio, desta vez por vontade sua. Nunca
vira o Tamisa com tão baixo caudal. Havia quem dissesse que um dia o rio secaria e as pontes gigantescas atravessariam inutilmente prados frescos. Demorou-se na
ponte dez minutos, a fumar um cigarro. Era difícil saber em que acreditar. Muita gente dizia que a água da torneira era um veneno lento.
Em casa acendeu todas as velas que tinha, para dissipar os temores de Marie. Ela seguia-o de perto. Henry cozinhou um peixe no fogão a parafina e comeram-no no quarto.
Ele falou a Marie do mar que ela nunca vira e depois leu-lhe uma história até ela adormecer no seu colo. Marie acordou quando ele a levava para a cama e perguntou:
- Que fez aquela senhora com a espada?
- Dançou. Dançou com ela nas mãos.
Os claros olhos azuis da filha mergulharam profundamente nos dele. Henry adivinhou a sua incredulidade e arrependeu-se de ter mentido.
Trabalhou pela noite fora, até tarde. Cerca das duas da manhã foi à janela do seu quarto e abriu-a. A Lua desaparecera e tinham surgido nuvens que cobriam as estrelas.
Ouviu uma matilha de cães lá em baixo, junto do rio. A norte, distinguiu as fogueiras acesas na planície do Ministério. Tentou adivinhar, incrédulo, se as coisas
mudariam muito enquanto vivesse. Atrás dele, Marie falou, a dormir, e riu-se.
Domingo
Deixei Marie com uma vizinha e caminhei para norte, do outro lado de Londres - uma distância de cerca de dez quilómetros -, para um encontro com uma antiga amante.
Conhecíamo-nos dos tempos antigos, e era em memória deles, mais do que por paixão, que continuávamos a encontrar-nos uma vez por outra. Neste dia o nosso acto de
amor foi demorado e pungentemente improfícuo. Depois, num quarto de sol empoeirado e mobiliário de plástico partido, falámos dos velhos tempos. Em voz baixa, Diane
queixou-se de vazio e pressentimento. Perguntava-se a que governo e a que conjunto de ilusões deveriam ser atribuídas as culpas e como poderia ter sido de outro
modo. Politicamente, Diane era mais sofisticada do que eu.
- Veremos o que acontece - disse-lhe. - Mas agora vira-te de barriga para baixo.
Ela falou-me do seu novo emprego, que consistia em ajudar um velho a vender o seu peixe. Ele era amigo do seu tio. Todos os dias, ao alvorecer, ela descia ao rio
para esperar o seu barco a remos. Carregavam um carro de mão com peixe c enguias e empurravam-no para um pequeno mercado de rua, onde o velho tinha uma barraca de
venda. Ele ia para casa dormir e preparar-se para o trabalho nocturno e ela vendia-lhe o peixe. Ao anoitecer, levava o dinheiro a casa dele e, talvez porque fosse
bonita, o velho insistia para que repartissem o ganho em partes iguais. Enquanto ela falava, eu massajava-lhe o pescoço e as costas.
- Agora, cheira tudo a peixe - lamentou-se.
Eu julgara que se tratara do odor genital persistente de outro amante -ela tinha muitos-, mas não o disse. Os seus receios e as suas queixas não eram diferentes
dos meus, e, no entanto - ou melhor, consequentemente -, eu só dizia coisas amenas, que não confortavam. Enfiei os polegares nas grossas pregas de pele do fundo
das suas costas. Ela suspirou.
- Pelo menos é um emprego- observei.
Levantei-me da cama. Na casa de banho, olhei para um espelho de aspecto antigo. O meu escroto estava encostado à borda fria do lavatório. O orgasmo, mesmo erradio,
provocava uma ilusão de lucidez. O zumbido monótono de um insecto alimentava a minha inacção. Tentando adivinhar a razão do meu silencio, Diane perguntou:
- Como vai a tua pequenita?
- Vai bem, está a crescer - respondi.
No entanto, estava a pensar no meu aniversário. Fazia trinta anos dali a dez dias, e isso, por sua vez, recordou-me a minha mãe. Inclinei-me para me lavar. Dois
anos antes chegara-me às mãos, por intermédio de pessoa amiga, uma carta escrita numa folha áspera de papel cor-de-rosa, muito bem dobrada e fechada num sobrescrito
usado. A minha mãe indicava o nome de uma aldeia no Kent. Trabalhava no campo, tinha leite, queijo, manteiga e um pouco de carne da quinta. Mandava amor saudoso
ao filho e à neta. Desde então, em momentos de lucidez ou de inquietação - não sabia distinguir -, fizera planos para um dia sair da cidade com Marie. Calculava
que a aldeia ficava a uma semana de caminho, a pé. Mas de todas as vezes encontrava pretextos para adiar, esquecia os planos. Esquecia até à sua recorrência, e de
cada vez que os fazia era com uma determinação nova. Leite fresco, ovos, queijo... de vez em quando carne. E, todavia, mais do que o destino, era a viagem em si
que me excitava. Com a estranha sensação de estar a fazer os primeiros preparativos, lavei os pés no bidé.
Voltei ao quarto transformado - como era costume quando fazia tais planos -, e senti-me ligeiramente impaciente ao verificar que o quarto, esse, estava na mesma.
As roupas de Diane e as minhas espalhadas pelos móveis, poeira, sol e objectos enchiam o aposento. Diane não se mexera desde que eu a deixara. Estava deitada de
costas na cama, de pernas afastadas, o joelho direito soerguido, a mão repousando na barriga, boca frouxa a servir de túmulo a uma queixa. Não éramos capazes de
nos satisfazer um ao outro, mas conversávamos. Éramos sentimentais. Ela sorriu e perguntou:
- Que era aquilo que estavas a cantar? - Quando lhe falei dos meus planos, disse: - Mas eu pensava que ias esperar que Marie fosse mais crescida.
Lembrei-me de que dissera isso meramente como desculpa para o adiamento.
- Ela está mais crescida - afirmei.
Ao longo da cama de Diane havia uma mesa baixa com um tampo de vidro grosso, dentro do qual estava aprisionada uma nuvem imóvel de delicado fumo preto. Em cima da
mesa encontrava-se um telefone, com o fio cortado a dez centímetros do aparelho, e mais adiante, encostado à parede, um tubo de raios catódicos. A caixa de madeira,
o painel de vidro e os botões reguladores tinham há muito sido arrancados, e agora havia pedaços de fio branco e brilhante enovelados à volta do vidro baço. Havia
inúmeros objectos quebráveis: jarras, cinzeiros, taças de vidro vitorianas ou aquilo a que Diane chamava Art Deco. Eu nunca tinha a certeza da diferença. Todos nós
andamos sempre à cata de objectos aproveitáveis, mas, como muitos outros na sua parte minimamente privilegiada da cidade, Diane acumulava coisas que não serviam
para nada. Acreditava na decoração interior, no estilo. Discutíamos a respeito desses objectos, uma vez mesmo com azedume. "Nós já não fazemos coisas artesanalmente",
dissera-me ela. "Nem as fabricamos ou produzimos em massa. Nós não fazemos nada, e eu gosto de coisas que foram feitas, por que artesãos ou processos", apontou para
o telefone, "não importa, porque mesmo assim continuam a ser produto da inventiva e da intenção humanas. E não se ter interesse por objectos está apenas a um passo
de não se ter interesses pessoais."
Respondi-lhe:
- Coleccionar estas coisas e exibi-las assim equivale a amor a si próprio. Sem uma rede telefónica, os telefones são sucata inútil.
Diane era oito anos mais velha do que eu. Teimara que não era possível amar outras pessoas ou aceitar o seu amor por nós se não nos amássemos a nós próprios. Achei
o argumento muito batido, e a discussão terminou em silêncio.
Estava a arrefecer. Metemo-nos na cama, eu de calças vestidas e com os pés lavados, ela com o seu cheiro a peixe.
- A questão é - disse eu, referindo-me à idade de Ma-ric- a impossibilidade de sobrevivermos agora sem um plano. - Tinha a cabeça a descansar no braço de Diane,
e ela puxou-me para o seu seio.
- Conheço uma pessoa - começou a dizer, e eu compreendi que estava a apresentar um amante - que quer instalar uma estação de rádio. Não sabe como gerar electricidade.
Não conhece ninguém capaz de construir um emissor novo ou de reparar um antigo. Mesmo que conhecesse, sabe que não existem aparelhos de rádio para receberem o seu
sinal. Fala vagamente em consertar os antigos, em descobrir um livro que lhe ensine como isso se faz. Eu digo-lhe: "Não podem existir estações de rádio sem uma sociedade
industrial." E ele responde: "Isso é o que veremos." Percebes, o que lhe interessa são os programas. Desperta o interesse de outras pessoas por eles e sentam-se
a conversar a respeito de programas. Quer apenas música em directo. Quer música de câmara do século XVIII de manhãzinha cedo, mas sabe que não há orquestras. A noite
encontra-se com os seus amigos marxistas e planeiam conversas, métodos, discutem a linha a seguir. Há um historiador que escreveu um livro e quer lê-lo alto em vinte
e seis programas de meia hora.
- Não serve de nada tentar repetir o passado - observei, passados momentos. - Não me interessa o passado, o que eu quero é construir um futuro para Marie e para
mim.
Calei-me e rimo-nos ambos, pois enquanto eu negava o passado estava deitado nos seios de Diane e falava em ir viver com a minha mãe. Era uma brincadeira antiga,
entre nós. Deixávamo-nos arrastar, íamos sempre parar a reminiscências. Rodeado pelas recordações de Diane, era fácil imaginar o mundo do lado de fora do quarto
como em tempos fora, ordenado e calamitoso. Falámos de um dos primeiros dias que passámos juntos. Eu tinha dezoito anos, Diane vinte e seis. Fomos a pé de Camden
Town, atravessando Regent's Park, ao longo de uma alameda de plátanos sem folhas. Era um dia de Fevereiro, frio e luminoso. Comprámos bilhetes para o jardim zoológico,
pois ouvíramos dizer que encerraria cm breve. Foi uma decepção; vagueámos descoroçoadamente de jaula em jaula, de um ambiente artificial cercado de fossos para outro.
O frio abafava o cheiro dos animais, a luminosidade iluminava a sua futilidade. Lamentámos o dinheiro que gastáramos nos bilhetes. No fim de contas, os animais pareciam
simplesmente aquilo que os seus nomes indicavam: tigres, leões, pinguins, elefantes, nem mais nem menos do que isso. Passámos uma hora melhor no quente, conversando
e bebendo chá, únicos clientes de um enorme café de uma infinita tristeza municipal.
Quando saíamos do zoo, alguns gritos de crianças da escola, para os lados dos chimpanzés, chamaram-nos a atenção. Era uma jaula no estilo de um enorme aviário, uma
paródia mesquinha do passado esquecido dos animais. Por entre arbustos de rododendros, curvava uma trilha da selva; um sistema de barras para baloiçar ia de um lado
ao outro da jaula e havia duas árvores anãs. Os gritos dirigiam-se a um macho possante e mal-humorado, o patriarca da jaula, que aterrorizava os outros chimpanzés.
Eles corriam à sua frente e desapareciam por um pequeno buraco na parede. Por fim, tudo quanto restava era o que parecia ser uma mãe idosa, talvez uma avó, à volta
de cuja barriga se agarrava um bebé chimpanzé. O macho perseguia-a. Guinchando, ela corria pela trilha fora e saltava para as barras. Andavam assim à volta da jaula.
Ele poucos centímetros atrás dela. Quando a mão com que ela se pendurava largava uma barra, a mão estendida dele agarrava-se-lhe.
Encantadas, as crianças pulavam e gritavam ao verem a fêmea a subir mais alto e a correr mais depressa. O bebé agarrava-se, com a pequena cara rosada meio enterrada
em tetas e pêlo, e descrevia, suspenso, largas trajectórias no ar. Agora corriam os dois através do tecto da jaula, com a fêmea a algaraviar enquanto fugia e a salpicar
as barras, em baixo, de excrementos de um verde-vivo. De súbito, o macho desinteressou-se e permitiu que as suas vítimas escapassem pelo buraco da parede. As crianças
gemeram, decepcionadas. A jaula ficou silenciosa e quieta; apareceram alguns chimpanzés, comicamente, no buraco, a olhar. O patriarca estava sentado num canto, alto,
a olhar com olhos brilhantes e abstractos por cima do ombro. Pouco a pouco, a jaula encheu-se e a mãe regressou com o bebé. Lançou um olhar cauteloso ao seu perseguidor,
recolheu todos os excrementos que encontrou e retirou-se para a copa de uma árvore, onde podia comer descansada. Com a ponta do dedo, metia pequenas quantidades
na boca do bebé. Olhou para baixo, para os espectadores humanos, e deitou-lhes a língua verde e luminosa de fora. O pequeno chimpanzé aninhou-se contra a sua protectora;
as crianças da escola dispersaram.
Ficámos muitos minutos deitados em silêncio, depois das nossas reminiscências. A cama era pequena, mas confortável, e eu sentia-me sonolento. Fechara já os olhos
quando Diane disse:
- Recordações como essa já não me incomodam. Mudou tudo tanto que me custa acreditar que tenhamos sido nós que lá estivemos.
Ouvi-a perfeitamente, mas não fui capaz de soltar mais do que um resmungo de concordância. Tinha a convicção de que me estava a despedir de Diane. Cá fora, o dia
estava soalheiro e quente. Debrucei-me do meu carro e acenei a Diane, que estava parada à janela. Descobri que conhecia perfeitamente os comandos do carro, claro.
Sempre conhecera. O automóvel rodava silenciosamente. Eu tinha fome e passava por restaurantes e cafés, mas não parava. Tinha um destino, um amigo em algum subúrbio
distante, mas não sabia quem. O caminho por onde conduzia era a chamada Circle Road. A tarde estava quente, o trânsito à minha volta era veloz e ágil, a paisagem
desumanizada e absolutamente compreensível. Nomes de lugares iluminados em sinais rodoviários muitíssimo objectivos. Um túnel ofuscante forrado de azulejos como
um urinol lançava-se da esquerda para a direita através de curvas parabólicas e arremessava-se violentamente para cima, para a luz do dia. Homens e mulheres aceleravam
os seus motores nas luzes de trânsito; nem os veículos defeituosos, nem os condutores incompetentes seriam tolerados. Através de uma janela aberta, viam-se dedos
adornados de anéis tamborilar no lado de um carro. Diante de um enorme anúncio a soutiens, um homem consultava o relógio. Atrás dele, o colosso puxava as alças com
gelada despreocupação. As luzes mudaram e todos nós saltámos para a frente, com satisfação e desdém impressos na expressão dos nossos lábios. Vi um garoto triste
montado num cavalo de supermercado, enquanto o pai sorria, perto dele.
Estava um frio de rachar e escurecia. Diane, do outro lado do quarto, acendia uma vela. Deitado na sua cama, eu observava-a a procurar roupas mais quentes para vestir.
Tive pena dela, a viver sozinha com todas as suas antiguidades. Tínhamos uma intimidade muito fácil, mas as minhas visitas eram raras; era um grande estirão a pé
de sul para norte, seguido do regresso e também era um pouco perigoso.
Não mencionei o meu sonho. Diane tinha uma grande saudade da era das máquinas e da indústria, dos automóveis, pois os automóveis fizeram em tempos parte da tessitura
da sua vida. Falava frequentemente do prazer de conduzir um carro, de viajar obedecendo a um conjunto de regras. Pare... Avance... Nevoeiro em frente. Em criança
fui um passageiro indiferente, e na adolescência vi-os ir desaparecendo das ruas. Diane ansiava por regras.
- Acho melhor ir andando - disse eu, e comecei a vestir-me. Parámos à porta, a tremer de frio.
- Prometes-me uma coisa? - perguntou Diane.
- O quê?
- Que não partes para o campo sem te vires despedir de mim. - Prometi. Beijámo-nos e Diane disse: - Não poderia suportar que vocês dois partissem sem eu saber.
Como de costume, no principio da noite andava muita gente por ali. O frio que estava justificava que se acendessem fogueiras nas esquinas das ruas e encontravam-se
pessoas paradas à volta delas, a conversar. Os seus filhos brincavam, atrás, na escuridão. Para ir mais depressa, caminhei pelo meio da rua, por longas avenidas
de carros ferrugentos e avariados. O caminho até ao centro de Londres era sempre a descer. Atravessei o canal e entrei em Camden Town. Segui para Euston e virei
para a Tottenham Court Road. Acontecia em toda a parte a mesma coisa: as pessoas saíam das suas casas frias e aninhavam-se à roda de fogueiras. Passei por alguns
grupos constituídos por pessoas que estavam de pé, em silêncio, de olhos fixos nas chamas; era cedo de mais para irem dormir. Virei à direita em Cambridge Circus
e entrei no Soho. À esquina da Frith Street com a Old Crompton Street havia uma fogueira acesa e eu parei para descansar e para me aquecer. Dois homens de meia-idade,
um de cada lado da fogueira, discutiam apaixonadamente, por cima das labaredas, enquanto os restantes escutavam ou se deixavam ficar sonhadoramente de pé. Os campeonatos
de futebol eram uma recordação que se desvanecia. Homens como estes eram capazes de espremer os miolos, ou de se engalfinharem à pancada, no esforço para recordarem
pormenores que outrora lhes vinham facilmente ao pensamento.
- Eu estava lá, amigo. Eles marcaram ao meio-tempo.
Sem mexer os pés, o outro fingiu afastar-se, irritado.
- Não diga asneiras - replicou. - Foi um empate sem golos.
Desataram a falar os dois ao mesmo tempo e tornou-se difícil perceber o que diziam.
Alguém atrás de mim e à minha direita fez um movimento na minha direcção e eu virei-me. Um chinês pequeno estava parado mesmo no limite do círculo de luz. Tinha
a cabeça em forma de cebola, sorria e acenava com grandes gestos dos braços, como se eu estivesse no cume de um monte distante. Dei dois passos na sua direcção e
perguntei:
- Que quer? - vestia a parte superior de um velho fato cinzento e jeans justos, novinhos. Onde arranjara ele jeans novos? - Que quer? - repeti. O homenzinho ofegou
e disse--me, em voz cantante:
- Venha! Venha comigo! - Logo a seguir saiu do anel de luz e desapareceu.
O chinês caminhava vários metros à minha frente e mal se via. Atravessámos a Shaftesbury Avenue para a Gerrard Street, e aí afrouxei o andamento. Comecei a arrastar
os pés e estendi as mãos adiante do rosto. Algumas janelas dos andares superiores brilhavam baçamente; davam uma ideia da direcção da rua, mas não projectavam nela
qualquer luz. Avancei cheio de cautela durante alguns minutos, e depois o chinês acendeu um candeeiro. Estava cinquenta metros à minha frente e segurava o candeeiro
ao nível da cabeça, à espera. Quando o alcancei, mostrou-me um portal baixo, bloqueado por qualquer coisa quadrada e preta. Era um armário, e quando o homem passou,
com dificuldade, para o outro lado, eu vi, à luz do seu candeeiro, que a seguir havia um íngreme lanço de degraus. O chinês pendurou o candeeiro do lado de dentro
do portal. Levantou o seu lado do armário. Eu levantei o meu. Era extraordinariamente pesado, e nós só podíamos subir com ele um degrau de cada vez. Para coordenar
os nossos esforços, o chinês exortava, com a sua voz ofegante, cantante:
- Venha! - Ganhámos ritmo e deixámos o candeeiro muito para baixo. Passou muito tempo, e a escada parecia não ter fim. - Venha... venha... - cantava-me o chinês
do interior do seu armário. Finalmente abriu-se uma porta, em frente. Uma luz amarela e cheiros de cozinha escorreram pela escada abaixo. Uma voz tensa, de tenor,
de sexo indeterminado, falou em chinês. Algures, mais adiante, uma criança chorou. Sentei-me a uma mesa salpicada de migalhas de bolachas e de pedras de sal. Do
outro lado do atravancado aposento, o chinês discutia com a mulher, uma criatura minúscula, tensa, com um rosto todo ele de tendões e de músculos nodosos. Atrás
deles ficava uma janela entaipada e, para lá da porta, um monte de colchões e cobertores. A pouca distância de onde eu estava sentado encontravam-se duas crianças
pequenas, do sexo masculino, vestidas apenas com umas camisetas amareladas, de pernas arqueadas e a babarem-se, que me observavam de cotovelos afastados, para se
equilibrarem. Uma rapariga dos seus doze anos tomava conta delas. O rosto da pequena era uma versão mais amarelada do da mãe, e o seu vestido era também como o da
mãe, demasiado largo e preso na cintura por um cinto estreito, de plástico. De um tacho que fervilhava num pequeno lume de carvão subia um odor salgado e fraco,
que se misturava com o cheiro a leite e a urina das crianças. Senti-me pouco à vontade. Lamentei a privacidade perdida do meu regresso a pé a casa, às escuras, a
meditação sobre os meus planos. Mas uma obscura noção de cortesia impedia-me de partir.
Elaborei a minha versão pessoal da discussão entre o marido e a mulher. Conhecia o decoro chinês. Ele desejava recompensar o convidado pela sua ajuda, era uma questão
de honra.
- Isso é um disparate - repetia ela, insistente. - Repara no sobretudo grosso que ele usa. Ele tem mais do que nós. Seria estúpido e sentimental, tendo nós tão pouco,
presentear um homem assim, por muito amável que ele tenha sido.
- Mas ele ajudou-nos - parecia replicar o marido. - Não podemos mandá-lo embora sem nada. Ofereçamos-lhe pelo menos de jantar.
- Não, não. Não há que chegue.
A discussão era formal e refreada, pouco mais do que um murmúrio. A discordância exprimia-se por monólogos que se sobrepunham, pelos movimentos ondulantes dos tendões
do pescoço da mulher, pelo abrir e fechar da mão esquerda do homem. Silenciosamente, eu incitava a mulher a manter a sua posição. Desejava ser mandado embora com
apertos de mão delicados e corteses, para nunca mais voltar. Continuaria o meu caminho para sul, para casa, e meter-me-ia na cama. Um dos pequenos, com os olhos
fixados em mim, começou a dar umas passadas hesitantes na minha direcção. Olhei para a rapariga, para que o interceptasse, e ela assim fez, mas com maus modos, e
eu desconfiei que retardou a sua intervenção mais tempo do que era necessário.
A discussão terminou, a mulher estava inclinada para um monte de colchões, a preparar uma cama para os bebés, e o marido observava-a de uma cadeira ao lado da minha.
A rapariga encostou-se à parede e procedeu a um exame melancólico dos seus dedos. Eu entretive-me com as migalhas e as pedras de sal. O chinês voltou-se e sorriu-me
ao de leve. Depois dirigiu à filha uma frase ininterrupta e de aparente complexidade, cuja parte final subiu resolutamente de tom, embora a expressão do rosto dele
permanecesse inalterada. A rapariga olhou para mim e disse, carrancuda:
- O pai diz que tem de comer com a gente.
Para clarificar a questão, o pai apontou para a minha boca e depois para o tacho.
- Venha! - disse, com entusiasmo.
Ao canto, a mãe falava de modo ríspido com os filhos, deitados um em cada lado de um pequeno colchão, a chorar de sono. Olhei fixamente na sua direcção, na esperança
de captar o seu olhar e receber a sua aprovação. Enfadada, a rapariga retomou a sua posição contra a parede; o pai continuava sentado de braços cruzados e olhos
embaciados e vazios.
- Que acha a sua mãe? - perguntei eu, e a rapariga encolheu os ombros e não levantou os olhos das unhas. Em contraste com a dela, a minha voz parecia falsa e culta,
sugeria lacónica manipulação. - De que estiveram os seus pais a falar há momentos?
Ela olhou para o armário preto.
- A mãe diz que o pai pagou de mais por ele.
Resolvi vir-me embora. Representei uma pantomina para o chinês, emprestando uma expressão enjoadiça ao rosto e apontando para o estômago, para lhe dizer que não
estava com fome. O meu anfitrião pareceu interpretar isso como se eu estivesse com tanta fome que não podia esperar até à hora do jantar. Falou rapidamente à filha,
e quando ela lhe respondeu mandou-a calar, zangado. Ela encolheu os ombros e atravessou o aposento, para o lume. A atmosfera encheu-se de um cheiro animal picante
e difuso, que lembrava o gosto do sangue. Torci-me na cadeira, para falar à rapariga.
- Não quero ofender os seus pais, mas diga ao seu pai que não estou com fome e tenho de me ir embora.
- Eu já lhe disse isso - respondeu ela e, com uma concha, tirou qualquer coisa para uma grande tigela branca que pôs à minha frente. Parecia encantada com a minha
situação. - Nenhum deles ouve - acrescentou, e voltou para a sua parte da parede.
Numa grande quantidade de água quente e límpida boiavam e colidiam silenciosamente vários globos pardos, parcialmente submersos. O rosto do chinês franziu-se, num
encorajamento.
- Venha!
Tive consciência de que a mulher me observava do seu lado do aposento.
- Que é isto? - perguntei à rapariga.
- É porcaria - respondeu, vagamente. Depois mudou de ideias e acrescentou, em tom sibilante e veemente: - É mijo.
Com um riso baixo e um pequeno floreado das mãos secas, o chinês pareceu elogiar a filha por dominar uma língua difícil. Observado por roda a família, peguei na
colher. Os bebés estavam calados no seu canto. Sorvi dois golos rápidos e sorri ao casal através do líquido não engolido.
- E bom - disse por fim, e acrescentei, dirigindo-me à rapariga - Diga-lhes que é bom. - Novamente sem levantar os olhos das unhas, ela respondeu-me:
- No seu lugar, não comeria isso.
Manobrei de maneira a apanhar um dos globos na colher e achei-o surpreendentemente pesado. Não perguntei à rapariga o que era, pois sabia o que ela responderia.
Engoli-o e levantei-me. Estendi a mão ao chinês, a despedir-me, mas ele e a mulher ficaram de olhos fixos no vago e não se mexeram.
- Vá, vá-se embora, mais nada - disse a rapariga, com resignação.
Contornei a mesa devagar, receoso de vomitar. Quando eu chegava à porta, qualquer coisa que a rapariga disse irritou, subitamente, a mãe. Ela começou a gritar com
o marido e a apontar para a minha tigela, da qual ainda subia, como numa acusação, um fino bafo branco de vapor. O chinês estava tranquilamente sentado, na aparência
indiferente. Depois, a furiosa mulher ralhou com a filha, que virou bruscamente as costas e não lhe deu ouvidos. Pai e filha pareciam aguardar em silêncio que um
tendão se partisse no pescoço da minúscula mulher, e eu aguardava também, semioculto pelo armário, desejando safar-me e acalmar a situação, e apaziguar a minha consciência
com despedidas amigáveis. Mas o aposento e as suas pessoas eram um quadro imóvel. Só os gritos tinham movimento, e por isso esgueirei-me sorrateiramente pela escada
a baixo.
O candeeiro continuava aceso por cima do portal. Sabendo como era difícil arranjar parafina, apaguei-o e saí para a rua escura.
Morta como um prego
Não gosto de mulheres que posam. Mas ela impressionou--me. Tive de parar e olhar para ela. Tinha as pernas bem afastadas, o pé direito ousadamente adiantado, o esquerdo
a segui-lo com estudada negligência. Tinha a mão direita à sua frente, quase a tocar a montra, de dedos espetados para cima como uma bela flor. A mão esquerda tinha-a
um pouco atrás de si e parecia conter com ela cãezinhos de regaço brincalhões. Cabeça bem lançada para trás, um leve sorriso, olhos semicerrados de enfado ou prazer.
Não consegui distinguir. Tudo muito artificial, mas, enfim, eu não sou um homem simples. Era uma bela mulher. Via-a quase todos os dias, alguns dias duas ou três
vezes. E, claro, ela apresentava outras poses, consoante a disposição lhe ditava. As vezes, quando passava depressa (sou um homem apressado), permitia-me um olhar
rápido, e ela parecia chamar-me, ver-me com simpatia. Outros dias, lembro-me de a ver com aquela passividade fatigada, abatida, que os idiotas tomam erradamente
por feminilidade.
Comecei a reparar nas roupas que usava. Era uma mulher elegante, naturalmente. De certo modo, era a sua profissão.
Mas não tinha nada da rigidez assexuada, afectada, daqueles cabides de roupa quase inanimados que passam haute couture em salões abafados ao som de execrável musak.
Não, ela pertencia a outro tipo de gente. Não existia meramente para apresentar um estilo, uma moda corrente. Estava acima disso, transcendia isso. As suas roupas
eram periféricas à sua beleza. Pareceria bem vestida em velhos sacos de papel. Desdenhava as suas roupas, trocava-as todos os dias por outras. A sua beleza resplandecia
através dessas roupas... e no entanto elas eram belas. Era Outono. Ela usava capas de castanhos-ferrugem escuros, ou rodadas saias de camponesa cor-de-laranja e
verdes, ou sóbrios fatos de calças, de um tom de ocre torrado. Era Primavera. Usava saias de algodão ou linho estampado da cor do fruto da passiflora, blusas de
cambraia branca ou vestidos caros, verdes e azul-celestes. Sim, eu reparava nas suas roupas, pois ela compreendia, como só os grandes pintores de retratos do século
xviii compreenderiam, as sumptuosas possibilidades do tecido, as subtilezas das pregas, a nuance entre vinco e bainha. O seu corpo, nas suas ondulantes mudanças
de pose, adaptava-se às exigências exclusivas de cada criação; com uma graça emocionante, as linhas do seu corpo perfeito faziam terno contraponto com os arabescos
mutáveis do artifício dos costureiros.
Mas divago. Maço-vos com o lirismo. Os dias vinham e passavam. Eu via-a neste dia e não naquele, e talvez duas vezes naqueloutro. Imperceptivelmente, vê-la e não
a ver tornou-se um factor na minha vida, e depois, antes que me apercebesse disso, passou de factor a estrutura. Vê-la-ia hoje? Seriam compensadas todas as minhas
horas e minutos? Ela olharia para mim? Lembrar-se-ia de mim de uma vez para a outra? Haveria um futuro para nós dois juntos... teria eu, jamais, a coragem de me
dirigir a ela? A coragem! De que serviam agora todos os meus milhões, de que valia agora a minha sabedoria amadurecida pelos estragos de três casamentos? Amava-a...
Desejava possuí-la. E para possuí-la parecia que teria de a comprar.
Preciso de vos dizer alguma coisa a meu respeito. Sou rico. Possivelmente, há dez homens residentes em Londres com mais dinheiro do que eu. Provavelmente, há apenas
cinco ou seis. Que interessa? Sou rico e ganhei dinheiro pelo telefone. Completo quarenta e cinco anos no dia de Natal. Fui casado três vezes, tendo cada casamento
durado, por ordem de sucessão, oito, cinco e dois anos. Nos últimos três anos não estive casado, o que não significa que tenha estado ocioso. Não parei. Um homem
de quarenta e cinco anos não tem tempo para parar. Sou um homem com pressa. Cada palpitação de gozo das vesículas sexuais, ou de onde quer que ela provenha, diminui
uma quantidade total destinada ao meu período de vida. Não tenho tempo para a análise, para a procura própria das ligações exaltadas, para a acusação muda, a defesa
silenciosa. Não desejo estar com uma mulher que fica com ânsia de falar quando terminamos o nosso acasalamento. Quero ficar deitado, quieto, em paz e serenidade.
Depois quero calçar as minhas peúgas e os meus sapatos, pentear-me e ir à minha vida. Prefiro mulheres silenciosas, que aceitam o seu prazer com aparente indiferença.
Durante o dia inteiro há vozes à minha volta, pelo telefone, cm almoços, em conferências de negócios. Não quero vozes na minha cama. Não sou um homem simples, repito,
e este não é um mundo simples. Mas a este respeito as minhas exigências são simples, talvez mesmo fáceis. A minha predilecção vai para o prazer não mitigado pelos
latidos e ganidos da alma.
Ou melhor, ia, pois isso foi tudo antes... antes de eu a amar, antes de eu conhecer a exaltação repugnante da autodestruição total por uma causa sem sentido. Que
me importa a mim agora, com quarenta e cinco anos no dia de Natal, o sentido? Quase todos os dias passava pela sua loja e olhava para ela. Aqueles primeiros dias
em que um olhar era suficiente e eu seguia apressadamente o meu caminho, para me encontrar com este homem de negócios amigo, ou com aquela amante... Não consigo
encontrar nenhum momento em que soubesse que estava enamorado. Descrevi como um factor da minha vida se transformou numa estrutura, se fundiu como o laranja no vermelho
no arco-íris. Em tempos fui um homem que passava apressadamente por uma montra e olhava com despreocupação para o seu interior. Depois fui um homem enamorado por...
fui apenas um homem enamorado. Aconteceu no decorrer de muitos meses. Comecei por me deter junto da montra. As outras... as outras mulheres expostas na montra não
significavam nada para mim. Estivesse a minha Helen onde estivesse, bastava-me um olhar para a localizar. Elas eram meros manequins (oh, meu amor!) abaixo do desprezo.
Nela, a vida gerava-se pela pura carga da sua beleza. A forma delicada da sua sobrancelha, a linha perfeita do seu nariz, o sorriso, os olhos semicerrados de enfado
ou de prazer (como poderia eu saber?). Durante muito tempo contentei-me em vê-la através do vidro, feliz por estar a poucas dezenas de centímetros dela. Na minha
loucura, escrevia-lhe cartas, sim, até isso fiz e ainda as conservo. Tratava-a por Helen ("Querida Helen, dá-me um sinal. Eu sei que tu sabes", etc.). Mas não tardei
a amá-la completamente e a desejar possuí-la, tê-la, absorvê-la, comê-la. Queria-a nos meus braços e na minha cama, ansiava por que abrisse as suas pernas para mim.
Não teria descanso enquanto não estivesse entre as suas pálidas coxas, enquanto a minha língua não abrisse aqueles lábios. Sabia que em breve teria de entrar na
loja e pedir que ma vendessem.
Simples, ouço-vos dizer. É rico. Poderia comprar a loja, se quisesse. Poderia comprar a rua. Claro que poderia comprar a rua, e muitas outras ruas. Mas escutai-me.
Não se tratava de uma mera transacção comercial. Não me preparava para comprar um terreno para uma nova urbanização. Nos negócios fazemos ofertas, corremos riscos.
Mas nesta questão não me podia arriscar a falhar, pois queria a minha Helen, precisara da minha Helen. O meu medo profundo era que o meu desespero me denunciasse.
Não tinha a certeza de que, ao negociar a compra, manteria a mão firme. Se me saísse de repente com um preço demasiado alto, o gerente da loja quereria saber porquê:
se ela era valiosa para mim, isso significava, concluiria ele naturalmente (pois não era também ele um homem de negócios?), que poderia ser igualmente valiosa para
outro qualquer. Helen estava naquela loja havia muitos meses. Talvez, e este pensamento começou a atormentar todos os meus minutos de vigília, talvez eles a levassem
de lá e a destruíssem.
Sabia que tinha de actuar em breve, e tinha medo. Escolhi a segunda-feira, que é um dia de pouco movimento em qualquer loja. Mas não tinha a certeza de que o pouco
movimento estivesse do meu lado. Podia ter escolhido o sábado, um dia movimentado, mas, na verdade, um dia sem movimento... um dia movimentado... As minhas decisões
opunham-se uma à outra como espelhos paralelos. Perdera muitas horas de sono, era agressivo com os meus amigos, virtualmente impotente com as minhas amantes, as
minhas capacidades para os negócios começavam a deteriorar-se, enfim, tinha de escolher, e escolhi, a segunda-feira. Estávamos em Outubro e caía uma chuva miúda,
fria. Disse ao motorista que não precisava dele naquele dia, meti-me no carro e dirigi-me para a loja. Deverei obedecer como um escravo às convenções idiotas e descrever-vos
o primeiro lar da minha doce Helen? Não estou realmente para aí virado. Era uma loja grande, um armazém, um armazém-geral, e negociava séria e exclusivamente em
roupas e acessórios femininos. Tinha escadas rolantes e um ar de tédio disfarçado. E chega. Eu tinha um plano. Entrei.
Quantos pormenores desta transacção terão de ser relatados antes do momento em que tive a minha adorada nos braços? Poucos, e depressa. Falei com uma empregada.
Ela consultou outra. Foram buscar uma terceira, e a terceira mandou uma quarta chamar uma quinta, que, como vim a verificar, era a subgerente encarregada da decoração
das montras. Reuniram-se à minha volta como crianças curiosas, adivinhando a minha riqueza e o meu poder, mas não a minha ansiedade. Adverti-as a todas de que tinha
um estranho pedido a fazer e elas transferiram, pouco à vontade, o peso de um pé para o outro e furtaram-se aos meus olhos. Dirigi-me às cinco mulheres com insistência.
Queria comprar um dos casacos que estavam expostos na montra, informei-as. Era para a minha mulher, disse-lhes, e também queria as botas e o lenço de pescoço condizentes
com o casaco. Era o aniversário da minha mulher, expliquei. Queria o manequim (ah, minha Helen!) em que essas roupas estavam expostas, a fim de lhes dar o maior
realce possível. Confidenciei-lhes o meu pequeno truque de aniversário. A minha mulher abriria a porta do quarto, atraída para lá por qualquer assunto doméstico
trivial inventado por mim, e depararia... não estavam a ver? Recriei a cena com muita vivacidade, para compreenderem. Observava-as com grande atenção. Levei-as aos
poucos, fi-las viver a emoção de uma surpresa de aniversário. Elas sorriram, entreolharam-se. Arriscaram-se a olhar-me nos olhos. Que espécie de marido era este!
Tornaram-se, cada uma delas, minha mulher. E, claro, estaria disposto a pagar um pequeno extra... mas não, a subgerente nem quis ouvir falar nisso. Aceitasse, por
favor, com os cumprimentos da casa. A subgerente conduziu-me à montra. Ela conduziu-me e eu segui-a através de uma névoa cor de sangue. A transpiração escorria-me
das palmas das mãos. A minha eloquência esgotara-se, sentia a língua colada aos dentes, e a única coisa de que fui capaz foi de levantar debilmente a mão e apontar
para Helen.
- Aquela - murmurei.
Em tempos fui um homem que passava apressadamente por uma montra e olhava com despreocupação para o seu interior... Depois fui um homem enamorado, um homem que transportava
o seu amor nos braços, debaixo de chuva, para um carro que nos esperava. É verdade, na loja tinham-se oferecido para dobrar e embrulhar as roupas, a fim de evitar
que se amarrotassem. Mas mostrem-me o homem capaz de transportar a sua amada nua pelo meio das ruas, debaixo de uma chuva de Outubro. Ah, como tagarelei de alegria
enquanto levava Helen pelas ruas. E como ela se aconchegou a mim, bem agarrada às minhas lapelas como um macaquinho recém-nascido. Oh, meu amorzinho. Cuidadosamente,
deitei-a no banco de trás do meu carro e, com igual cuidado, guiei para casa.
Em casa tinha tudo preparado. Sabia que ela quereria descansar assim que chegássemos. Levei-a para o quarto, descalcei-lhe as botas e deitei-a entre a roupa da cama
branca e engomada. Beijei-a ternamente na face e, diante dos meus olhos, ela mergulhou num sono profundo. Entretive-me umas horas na biblioteca, a pôr em dia negócios
importantes. Agora sentia-me sereno, iluminado por uma firme claridade interior. Conseguia concentrar-me intensamente. Entrei em bicos de pés no quarto onde ela
estava deitada. No sono, as suas feições decompunham-se numa expressão de grande ternura e compreensão. Tinha os lábios ligeiramente entreabertos. Ajoelhei e beijei-os.
Voltei para a biblioteca e sentei-me defronte da lareira acesa com um cálice de porto na mão. Meditei na minha vida, nos meus casamentos, no meu desespero recente.
Parecia-me agora que toda a infelicidade do passado fora necessária para tornar o presente possível. Agora tinha a minha Helen. Ela estava a dormir na minha cama,
em minha casa. Ela não gostava de mais ninguém. Era minha.
Chegaram as dez horas e meti-me na cama ao seu lado. Deitei-me devagarinho, em silêncio, mas percebi que estava acordada. É comovedor recordar agora que não fizemos
amor imediatamente. Não, ficámos ao lado um do outro (como ela estava quente) e conversámos. Falei-lhe da primeira vez que a vira, disse-lhe como o meu amor por
ela crescera e como planeara conseguir a sua libertação da loja. Falei-lhe dos meus três casamentos, dos meus negócios e dos meus casos amorosos. Estava resolvido
a não lhe ocultar nada, a não ter segredos para ela. Falei-lhe das coisas em que tinha estado a pensar enquanto estivera sentado defronte da lareira com o meu cálice
de porto. Falei do futuro, do nosso futuro juntos. Disse-lhe que a amava, sim, creio que lhe disse isso muitas vezes. Escutou-me com a atenção intensa e silenciosa
que eu aprenderia a respeitar nela. Afagou a minha mão, fitou-me maravilhadamente nos olhos. Despi-a. Coitadinha. Não tinha nada vestido debaixo do casaco, não tinha
nada no mundo senão a mim. Puxei-a muito para mim. O seu corpo nu contra o meu, e quando o fiz vi-a abrir os olhos, a sua expressão de medo... Era virgem. Murmurei-lhe
ao ouvido, tranquilizei-a. Falei-lhe da minha brandura, da minha perícia, do meu controlo. Entre as suas coxas acariciei com a minha língua o calor fétido da sua
luxúria virgem. Peguei-lhe na mão e coloquei os seus dedos dóceis à volta da minha latejante virilidade (oh, as suas mãos frias).
- Não tenhas medo - murmurei -, não tenhas medo.
Entrei nela devagar, serenamente, como um navio gigante num ancoradouro nocturno. A chama rápida de dor que vi nos seus olhos foi apagada por compridos, ágeis dedos
de prazer. Nunca conheci tamanho prazer, uma harmonia tão total... quase total, pois devo confessar que uma sombra houve que não pude afastar. Ela fora uma virgem,
agora era uma amante exigente. Queria o orgasmo que eu não conseguia dar-lhe, não me largava, não me dava descanso. Insistimos pela noite fora, ela eternamente oscilante
na beira daquela falésia, no desafogo daquela mais doce de todas as mortes... Mas nada do que eu fazia, e eu fiz tudo, eu dei tudo, conseguia conduzi-la a esse porto.
Por fim, deviam ser umas cinco da manhã, soltei-me dela, delirante de fadiga, angustiado e magoado com o meu insucesso. Ficámos de novo deitados ao lado um do outro,
e desta vez senti no seu silêncio uma censura muda. Não a trouxera eu da loja, onde vivera em relativa paz, não a trouxera eu para esta cama e não me gabara da minha
perícia? Peguei-lhe na mão. Estava rígida e hostil. Pensei, num momento de pânico, que Helen poderia deixar-me. Foi um medo que haveria de voltar muito mais tarde.
Não havia nada que pudesse detê-la. Ela não tinha virtualmente quaisquer aptidões. Nem roupas. Mas mesmo assim poderia deixar-me. Havia outros homens. Podia voltar
a trabalhar na loja.
- Helen - disse eu ansiosamente. - Helen... - Permaneceu perfeitamente imóvel, dando a impressão de que continha a respiração. - Acontecerá, verás, acontecerá -
e com estas palavras estava de novo dentro dela, movendo-me lentamente, imperceptivelmente, fazendo-a dar comigo cada passo do caminho. Foi preciso uma hora de aceleração
lenta, e quando o cinzento alvorecer de Outubro trespassava as carrancudas nuvens de Londres ela morreu, ela veio-se, ela deixou este mundo sublunar... O seu primeiro
orgasmo. Os seus membros tornaram-se rígidos, os seus olhos fitaram o vazio e um profundo espasmo interior varreu-a como uma vaga oceânica. Depois adormeceu nos
meus braços.
Na manhã seguinte acordei tarde. Helen continuava deitada em cima do meu braço, mas eu consegui levantar-me da cama devagarinho, sem a acordar, vesti um roupão particularmente
resplandecente, prenda da minha segunda mulher, e fui à cozinha fazer café para mim. Sentia-me um homem diferente. Olhei para os objectos que me cercavam, o Utrillo
na parede da cozinha, uma falsificação famosa de uma estatueta de Rodin, os jornais da véspera. Emanavam originalidade, estranheza. Apetecia-me tocar nas coisas.
Passei as mãos pelos veios da madeira do tampo da mesa da cozinha. Deleitou-me deitar o café em grão no moinho e tirar do frigorífico uma toranja madura. Estava
apaixonado pelo mundo, pois encontrara a minha companheira perfeita. Amava Helen e sabia que era por ela amado. Sentia-me livre. Li o jornal da manhã muito depressa,
e no fim desse dia ainda me lembrava dos nomes dos ministros estrangeiros e dos países que eles representavam. Ditei meia dúzia de cartas pelo telefone, fiz a barba,
tomei um duche e vesti-me. Quando fui espreitar Helen, ela continuava a dormir, exausta pelo prazer. Mesmo quando acordou, não quis levantar-se enquanto não tivesse
qualquer coisa para vestir. Mandei o meu motorista conduzir-me ao West End e passei lá a tarde a comprar roupas. Seria deselegante da minha parte mencionar quanto
gastei, mas deixai-me dizer que poucos homens ganham tanto num ano. No entanto, não lhe comprei um soutien.
Sempre os desprezei como objectos, e todavia só as estudantes e as nativas da Nova Guiné parecem dispensá-los. Além disso, a minha Helen também não gostava deles,
o que era uma sorte.
Estava acordada quando regressei. Disse ao meu motorista que levasse os embrulhos para a sala de jantar e depois mandei-o embora. Eu próprio levei o que comprara
da sala de jantar para o quarto. Helen ficou encantada. Os seus olhos brilharam e ficou ofegante de alegria. Juntos, escolhemos o que ela usaria nessa noite: um
vestido de noite comprido, de seda pura, azul-pálido. Deixando-a a contemplar o que equivalia a mais de duzentos objectos distintos, corri para a cozinha a fim de
preparar uma refeição sumptuosa. Assim que dispus de alguns minutos, voltei ao quarto, para ajudar Helen a vestir-se. Ela ficou absolutamente imóvel, completamente
descontraída, enquanto eu recuava para a admirar. Assentava-lhe, claro está, como uma luva. Mas além de ver, uma vez mais, o seu talento para usar roupas, vi, como
nenhum homem jamais vira, beleza noutro ser, vi... enfim, aquilo era arte, era a consumação total de linha e forma que só a arte consegue realizar. Ela parecia luminescente.
Ficámos parados em silêncio, de olhos mergulhados um no outro. Depois perguntei-lhe se gostaria que lhe mostrasse a casa.
Levei-a primeiro à cozinha. Mostrei-lhe como funcionavam os diversos aparelhos. Chamei-lhe a atenção para o Utrillo na parede (mais tarde descobri que ela não gostava
muito de pintura). Mostrei-lhe o falso Rodin e ofereci-me mesmo para a deixar pegar-lhe, mas ela não quis. Levei-a a seguir à casa de banho e mostrei-lhe a banheira
de mármore afundada e como se manejavam as torneiras que faziam a água esguichar da boca de leões de alabastro. Pensei para comigo se não os acharia um pouco vulgares.
Ela não disse nada. Conduzi-a à sala de jantar... De novo quadros, com os quais a macei um bocado. Mostrei-lhe o meu gabinete, as minhas primeiras edições de Shakespeare,
raridades diversas e muitos telefones. Depois, a sala de reuniões. Não havia, realmente, qualquer necessidade de ela a ver. Talvez nessa altura eu estivesse a exibir-me
um pouco. Por fim, o vasto espaço de estar a que chamo simplesmente a sala. Aí passo as minhas horas de lazer. Não vos arremesso mais pormenores, como outros tantos
tomates sorvados... E confortável e não pouco exótica.
Percebi imediatamente que Helen gostava da sala. Ficou parada à porta, de mãos caídas ao longo do corpo, a observar tudo. Levei-a para um grande cadeirão, sentei-a
e servi-lhe a bebida de que estava tão precisada, um dry martini.
Depois deixei-a e na hora que se seguiu dediquei toda a minha atenção a cozinhar a nossa refeição. O que se passou nessa noite foram certamente as poucas horas mais
civilizadas que alguma vez compartilhei com uma mulher ou, para ser inteiramente sincero, com outra pessoa. Tenho cozinhado muitas refeições em minha casa para senhoras
amigas. Classifico-me, sem hesitar, como um excelente cozinheiro. Um dos melhores. Mas, até esta ocasião em particular, essas noites foram sempre empanadas pelo
sentimento de culpa condicionado da minha convidada de momento, por ser eu que estava na cozinha e não ela, por ser eu que trazia os pratos e os levava no fim. E
durante toda a refeição a minha convidada exprimia constante surpresa pelo facto de eu, três vezes divorciado, e homem, ainda por cima, ser capaz de tais triunfos
culinários. Helen, não. Ela era minha convidada, e pronto. Não tentou invadir a minha cozinha, não arrulhou perpetuamente: "Há alguma coisa que eu possa fazer?"
Ficou sentada como é próprio de uma convidada e deixou que eu a servisse. Sim, e a conversa. Com essas minhas outras convidadas achei sempre a conversa uma corrida
de obstáculos sobre valas e sebes de contradição, competição, mal-entendidos, etc. Para mim, a conversa ideal é aquela que permite a ambos os participantes desenvolver
os seus pensamentos em toda a sua extensão, sem inibições, sem terem de estar interminavelmente a definir e clarificar premissas e a defender conclusões. Com Helen
pude conversar da maneira ideal, pude falar com ela. Ela estava completamente imóvel, com os olhos fixos num ponto vários centímetros à frente do seu prato, e escutava.
Disse-lhe muitas coisas que nunca antes dissera em voz alta. Falei-lhe da minha infância, do estertor da agonia do meu pai, do terror da minha mãe pela sexualidade,
da minha própria iniciação sexual, com uma prima mais velha; falei do estado do mundo, da nação, de decadência, do liberalismo, dos romances contemporâneos, de casamento,
êxtase e doença. Quando demos por nós tinham passado cinco horas e bebêramos quatro garrafas de vinho e meia garrafa de porto. Pobre Helen. Tive de transportá-la
para a cama e de a despir.
Deitámo-nos, com os nossos membros entrelaçados, e não pudemos fazer mais nada senão mergulhar no mais profundo, no mais agradável dos sonos.
Assim terminou o nosso primeiro dia juntos, e assim foi traçado o padrão para os muitos meses felizes que se seguiriam. Eu era um homem feliz. Repartia o meu tempo
entre Helen e ganhar dinheiro. A última coisa fazia-a com um êxito que não exigia esforço. Tornei-me de facto tão rico durante esse período que o governo da altura
considerou perigoso eu não ter um cargo influente. Aceitei ser feito cavaleiro, claro está, e Helen e eu celebrámos o acontecimento em grande estilo. Mas recusei
servir o governo fosse em que capacidade fosse, tão absolutamente associava isso com a minha segunda mulher, que parecia exercer grande influência entre a sua bancada
da frente1. O Outono transformou-se em Inverno e depois, em breve, abriram flores nas amendoeiras do meu jardim, e logo as primeiras tenras folhas verdes apareceram
na minha alameda de carvalhos. Helen e eu vivíamos em perfeita harmonia, que nada podia perturbar. Eu ganhava dinheiro, eu fazia amor, eu falava, Helen escutava.
Mas era um idiota. Nada dura sempre. Toda a gente sabe isso, mas ninguém acredita que não há excepções. Chegou, lamento, o momento de vos falar do meu motorista,
Brian.
Brian era o motorista perfeito. Não falava se não lhe falassem primeiro, e mesmo assim só o fazia para concordar. Mantinha secretos o seu passado, as suas ambições,
o seu carácter, e eu sentia-me grato por isso, porque não desejava saber de onde ele viera, para onde ele ia ou quem ele pensava que era. Guiava bem e a uma velocidade
espantosa. Sabia sempre onde estacionar. Estava sempre à frente de qualquer fila de trânsito, e raramente estava numa fila. Conhecia toda a espécie de atalhos, todas
as ruas de Londres. Era incansável. Esperava por mim toda a noite numa morada, sem recorrer a cigarros ou a literatura pornográfica. Mantinha o carro, as suas botas
e o seu uniforme impecáveis. Era pálido, magro e asseado, e eu calculava que a sua idade se situava algures entre os dezoito e os trinta e cinco anos.
Talvez vos surpreenda saber que, apesar do meu orgulho nela, não apresentei Helen aos meus amigos. Não a apresentei a ninguém. Ela não parecia necessitar de qualquer
companhia além da minha e eu gostava de deixar as coisas assim. Porque haveria de começar a arrastá-la pelo enfadonho circuito social da Londres rica? Além disso,
ela era muito tímida, ao princípio até mesmo comigo. Não abri uma excepção para Brian. Sem tornar o caso um segredo demasiado óbvio, não o deixava, porém, entrar
numa sala se Helen lá se encontrava. E se queria que Helen viajasse comigo, dava folga a Brian durante esse dia (ele morava por cima da garagem) e conduzia eu próprio
o carro. Tudo muito claro e simples. Mas as coisas começaram a correr mal e eu lembro-me perfeitamente do dia em que tudo começou. Cerca de meados de Maio, cheguei
a casa após um dia singularmente fatigante e exasperante. Então não o sabia (suspeitava-o), mas perdera quase meio milhão de libras devido a um erro da minha exclusiva
responsabilidade. Helen estava sentada na sua cadeira favorita, sem fazer nada de especial, e havia na sua expressão, quando entrei na sala, um não-sei-quê de tão
esquivo, tão indefinivelmente frio, que tive de fingir ignorá-lo. Bebi dois scotches e senti-me melhor. Sentei-me ao lado dela e comecei a falar-lhe do meu dia,
do que correra mal. Disse-lhe que a culpa fora toda minha, que acusara impulsivamente outra pessoa e depois tivera de pedir desculpa, etc., enfim, falei-lhe das
preocupações de um mau dia que uma pessoa tem o direito de confessar apenas à sua companheira. Mas estava a falar havia pouco menos de trinta e cinco minutos quando
me apercebi de que Helen não me prestava atenção nenhuma. Olhava estupidamente para as mãos, que tinha abandonadas nos joelhos. Estava longe, muito longe. Foi uma
descoberta tão horrível que de momento não fui capaz de fazer mais nada (fiquei paralisado) senão continuar a falar. E depois não consegui suportar mais. Parei a
meio de uma frase e levantei-me. Saí da sala, batendo com a porta. Em nenhuma altura Helen levantou os olhos das mãos. Sentia-me furioso, tão furioso que não podia
falar com ela. Sentei-me na cozinha a beber pela garrafa de scotch, que me lembrara de levar comigo. Depois tomei um duche.
Quando voltei à sala já me sentia consideravelmente melhor. Estava descontraído, um pouco bêbedo e pronto a esquecer toda a questão. Helen também parecia mais afável.
Ao princípio tencionara perguntar-lhe o que acontecera, mas recomeçámos a falar do meu dia e, num instante, voltámos a ser como sempre tínhamos sido um com o outro.
Parecia inútil voltar atrás e repisar coisas passadas quando estávamos a entender-nos tão bem. Mas uma hora depois do jantar a campainha da porta principal tocou
- ocorrência rara à noite. Quando me levantava da cadeira olhei por acaso para Helen e vi passar-lhe pelo rosto aquela mesma expressão de medo que lhe vira na noite
em que pela primeira vez fizéramos amor. Quem estava à porta era Brian. Tinha na mão um papel para eu assinar. Qualquer coisa relacionada com o carro, qualquer coisa
que poderia ter esperado para de manhã. Enquanto passava um relance de olhos por aquilo que devia assinar, vi pelo canto do olho que, sub-repticiamente, Brian olhava
por cima do meu ombro para o corredor.
- Procura alguma coisa? - perguntei com aspereza.
- Não, senhor - respondeu.
Assinei e fechei a porta. Lembrei-me de que, em virtude de o carro ter estado na garagem para revisão, Brian estivera em casa todo o dia. Eu fora de táxi para o
escritório. Este facto e a estranheza de Helen... Apoderou-se de mim uma náusea tão grande, quando associei as duas coisas, que por momentos pensei que ia vomitar
c tive de correr para a casa de banho.
Não vomitei, porém. Em vez disso, olhei para o espelho. Vi lá reflectido um homem que dentro de menos de sete meses completaria quarenta e cinco anos, um homem com
três casamentos cauterizados à roda dos seus olhos c cujo canto da boca descaía, em consequência de uma vida inteira a falar ao telefone. Refresquei o rosto com
água fria e reuni-me a Helen na sala.
- Era Brian - disse-lhe.
Ela não disse nada, não foi capaz de olhar para mim. A minha voz soou aos meus próprios ouvidos nasalada e sem timbre.
- Ele não costuma aparecer à noite... - Continuou sem dizer nada. Que esperava eu? Que ela decidisse, de súbito, confessar um caso com o meu motorista? Helen era
uma mulher calada, que não tinha dificuldade em ocultar os seus sentimentos. Tão-pouco podia eu confessar o que sentia. Tinha demasiado medo de estar certo. Não
poderia suportar ouvi-la confirmar a própria ideia que ameaçava de novo fazer-me vomitar. Fazia os meus comentários simplesmente para que ela escorasse o seu fingimento...
Desejava tão desesperadamente ouvi-la negar tudo, mesmo sabendo que a negativa era falsa! Em resumo, compreendi que estava nas mãos de Helen.
Nessa noite não dormimos juntos. Fiz uma cama para mim num dos quartos de hóspedes. Não queria dormir sozinho; na realidade, essa ideia era-me odiosa. Suponho (estava
tão confuso!) que decidi tomar aquela atitude para que Helen me perguntasse o que estava a fazer. Queria ouvi-la exprimir surpresa pelo facto de, depois de todos
aqueles meses felizes juntos, eu estar, inesperadamente e sem ter sido dita uma palavra, a fazer a minha cama noutro quarto. Queria que me dissesse que não fosse
pateta, que fosse para a cama, para a nossa cama. Mas ela não disse nada, absolutamente nada. Aceitou tudo com naturalidade... Aquela era, pois, a situação e nunca
mais poderíamos compartilhar um leito. O seu silêncio era uma cruel confirmação. Ou existiria a mínima possibilidade (não pregava olho na minha nova cama) de ela
estar simplesmente zangada com o meu mau humor? Agora estava de facto confuso. Levei a noite a virar e revirar o assunto no meu pensamento. Talvez ela nunca tivesse
visto Brian. Seria possível que fosse tudo imaginação minha? No fim de contas, tivera um dia mau. Mas isso era absurdo, pois ali estava a realidade da situação:
camas separadas; e, contudo, que deveria eu ter feito? Que deveria eu ter dito? Considerei todas as possibilidades, boas palavras, silêncios astuciosos, concisos
comentários aforísticos que rasgassem o fino véu da aparência. Estaria ela acordada, como eu, a pensar em tudo aquilo? Ou dormiria profundamente? Como poderia eu
sabê-lo sem mostrar que estava acordado? Que aconteceria se ela me deixasse? Estava completamente à sua mercê.
Levaria a língua à falência se tentasse dar uma ideia da textura da minha existência durante as semanas seguintes. Ela revestiu-se do horror arbitrário de um pesadelo.
Era como se eu fosse um assado metido num espeto que Helen girava a seu bel-prazer. Seria errado da minha parte tentar argumentar, retrospectivamente, que a situação
foi do princípio ao fim criada por mim; mas sei agora que poderia ter posto fim à minha miséria mais cedo. Tornou-se ponto assente que eu dormia no quarto de hóspedes.
O orgulho impedia-me de regressar ao leito nupcial. Queria que fosse Helen a tomar a iniciativa a esse respeito. No fim de contas, era ela que tinha muitas explicações
a dar. Neste ponto era inflexível; essa era a minha única certeza num período de desolada confusão. Tinha de me agarrar com força a qualquer coisa... e, como estão
a ver, sobrevivi.
Helen e eu quase não falávamos. Mostrávamo-nos frios e distantes. Cada um de nós evitava os olhos do outro. A minha insensatez foi pensar que, se permanecesse calado
durante tempo suficiente, isso a venceria, de uma maneira ou doutra, e faria que ela quisesse falar comigo, dizer-me o que pensava que nos estava a acontecer. Por
isso, fui assando. De noite acordava, aos gritos, com pesadelos, e durante as tardes amuava e tentava pensar em tudo aquilo claramente. Tinha de continuar com o
meu negócio. Tinha de me ausentar de casa com frequência, por vezes para centenas de quilómetros de distância, com a certeza de que Brian e Helen estavam a festejar
a minha ausência. Algumas vezes telefonava para casa, de hotéis ou de salas de aeroportos. Ninguém atendia, nunca, mas eu ouvia entre cada vibração dos sons electrónicos
Helen no quarto, a ofegar num crescendo de prazer.Vivia num vale de trevas à beira das lágrimas. A visão de uma criança pequena a brincar com o seu cão, o pôr do
Sol reflectido num rio, a frase acutilante de um anúncio publicitário, tanto bastava para me desfazer em pranto. Quando, desolado, faminto de amizade e amor, regressava
a casa de viagens de negócios, sentia, a partir do momento em que transpunha a porta, que Brian lá estivera não muito antes de mim. Não era nada tangível, nada além
do senti-lo no ar, de qualquer coisa no arranjo da cama, de qualquer cheiro diferente na casa de banho, da posição da garrafa de scotch na bandeja.
Helen fingia não me ver enquanto eu vagueava, angustiado, de sala para sala, fingia não ouvir os meus soluços na casa de banho. Poder-se-á perguntar porque não despedi
eu o motorista. A resposta é simples. Receava que, se Brian se fosse embora, Helen fosse atrás dele. Não dava ao meu motorista quaisquer sinais dos meus sentimentos.
Transmitia-lhe as suas ordens e ele conduzia-me, mantendo como sempre o seu servilismo. Não observei nada de diferente no seu comportamento, embora não desejasse
olhá-lo com excessiva atenção. E minha convicção que ele nunca soube que eu sabia, e isso dava-me pelo menos a ilusão de ter poder sobre ele.
Mas isto são subtilezas periféricas, obscuras. Essencialmente, eu era um homem em desintegração, estava a desmoronar-me. Adormecia ao telefone. Começou a cair-me
o cabelo. Encheu-se-me a boca de úlceras e o meu hálito tinha o fedor de uma carcaça em decomposição. Reparava que os homens de negócios meus amigos recuavam um
passo quando eu falava. Nasceu-me um malvado furúnculo no ânus.
Estava a perder. Comecei a compreender a futilidade dos meus jogos de silêncio com Helen. Na realidade, não existia entre nós uma situação com a qual jogar. Quando
eu estava em casa, ela passava o dia inteiro sentada na sua cadeira. Às vezes ficava lá sentada toda a noite. Em muitas ocasiões, eu tinha de sair de casa de manhã
cedo; deixava-a sentada na sua cadeira a olhar para os desenhos do tapete e quando regressava a casa, noite alta, ela ainda lá estava. Deus sabe que queria ajudá-la.
Amava-a. Mas não podia fazer nada enquanto ela me não ajudasse a mim. Estava fechado na desgraçada masmorra da minha mente e a situação parecia em absoluto desesperada.
Em tempos fui um homem que passava apressadamente por uma montra e que olhava com despreocupação para o seu interior; agora era um homem com mau hálito, furúnculos
e úlceras na boca. Estava a desmoronar-me.
Na terceira semana deste pesadelo, quando parecia não haver mais nada que eu pudesse fazer, quebrei o silêncio. Era tudo ou nada. L.evei todo esse dia a andar por
Hyde Park, mobilizando os restos esfrangalhados da minha razão, da minha força de vontade, da minha brandura, para o conforto que decidira se realizaria nessa noite.
Bebi um pouco menos de um terço de uma garrafa de scotch, e por volta das sete horas dirigi-me em bicos de pés para o quarto onde ela permanecera deitada nos últimos
dois dias. Bati devagarinho e depois, não ouvindo qualquer resposta, entrei. Estava deitada na cama, completamente vestida, de braços ao longo do corpo. Vestia uma
bata clara, de algodão. Tinha as pernas bem abertas e a cabeça inclinada para uma almofada. Notei um vaguíssimo, quase inexistente, brilho de reconhecimento quando
parei diante dela. O meu coração batia desabalada-mente e o fedor do meu hálito enchia o quarto, como fumo venenoso.
- Helen - disse, e tive de parar para desentupir a garganta. - Helen, não podemos continuar assim. Chegou a altura de falarmos. - E depois, sem lhe dar uma oportunidade
de responder, disse-lhe tudo. Disse-lhe que sabia do seu caso. Falei-lhe do meu furúnculo. Ajoelhei à beira da cama.
- Helen - disse, a chorar -, significou tanto para nós dois. Temos de lutar para salvar isto.
Silêncio. Os meus olhos estavam fechados e eu julguei ver a minha própria alma afastar-se de mim através de um enorme vazio negro, até ficar reduzida a um pontinho
de luz vermelha. Olhei-a, olhei os seus olhos e vi neles um puro e silencioso desprezo. Acabara tudo, e eu tive naquele momento louco dois desejos selvagens e correlacionados.
Violá-la e destruí-la. Com um movimento brusco da mão, arranquei-lhe a bata do corpo. Ela não tinha nada por baixo. Sem lhe dar sequer tempo de respirar, pus-me
em cima dela, dentro dela, a abalroar profundamente o seu interior, com a mão direita fechada à volta do seu delicado pescoço branco. Com a mão esquerda tapei-lhe
o rosto com a almofada.
Vim-me quando ela morreu. Isso posso eu dizer com orgulho. Sei que a sua morte foi um momento de intenso prazer para ela. Ouvi os seus gritos através da almofada.
Não vos maçarei com rapsódias a respeito do meu próprio prazer. Foi uma transfiguração. E agora ela estava morta nos meus braços. Só passados alguns minutos compreendi
a enormidade do meu acto. A minha querida, doce, terna Helen jazia morta nos meus braços, morta e deploravelmente nua. Desmaiei.
Acordei, segundo me pareceu, horas depois, vi o cadáver e, antes que tivesse tempo de virar a cabeça, vomitei sobre ele. Como um sonâmbulo, dirigi-me para a cozinha,
fui direito ao Utrillo e rasguei-o, fi-lo em fanicos. Deitei o falso Rodin na conduta do lixo. Depois corri como um louco, nu, de sala para sala, destruindo tudo
aquilo em que podia pôr as mãos. Parei apenas para acabar a garrafa de scotch. Vermeer, Blake, Richard Dadd, Paul Nash, Rothke, a todos rasguei, espezinhei, mutilei,
pontapeei, em todos cuspi e urinei... os meus bens preciosos... oh, preciosos... Dancei, cantei, ri... Chorei pela noite fora.
Entre os lençóis
Naquela noite, Stephen Coke teve um sonho molhado, o primeiro em muitos anos. Depois ficou acordado, deitado de costas, com as mãos atrás da cabeça, enquanto as
últimas imagens do sonho recuavam na escuridão e o seu orgasmo, estranhamente localizado de lado a lado no fundo das suas costas, arrefecia. Ficou imóvel até a luz
se tornar cinzento--azulada, e depois tomou um banho. Demorou-se lá, também, muito tempo, olhando sonolentamente o seu corpo, luminoso debaixo da água.
No dia anterior tivera um encontro com a mulher num café fluorescentemente iluminado e com mesas com tampos de fórmica. Eram cinco da tarde quando ele chegou, e
quase escuro. Como esperara, chegou antes dela. A empregada era uma rapariguinha italiana, dos seus nove ou dez anos, talvez, cujos olhos tinham a tristeza e a seriedade
das preocupações dos adultos. Escreveu duas vezes, diligentemente, no seu livrinho de apontamentos a palavra "café", rasgou a página em que escrevera em duas metades
e, cuidadosamente, deixou uma metade na mesa, voltada para baixo. Depois, a arrastar os pés, foi pôr a trabalhar a enorme e reluzente máquina Gaggia. Ele era o único
cliente do café.
A mulher observava-o do passeio. Não gostava de cafés baratos, e não deixava nunca de fazer as coisas de modo a que ele chegasse antes de ela entrar. Stephen viu-a
quando se voltou na cadeira para receber o café das mãos da pequena. Ela encontrava-se atrás do ombro da imagem reflectida dele próprio, como um fantasma, semioculta
num portal do outro lado da rua. Estava certamente convencida de que ele não poderia ver de um café iluminado para a escuridão da rua. Para a tranquilizar, mudou
a posição da cadeira, a fim de lhe proporcionar uma vista mais completa do seu rosto. Mexeu o café e observou a empregada, que estava encostada ao balcão como num
transe, a retirar do nariz um comprido fio prateado. O fio partiu-se e instalou-se na ponta do seu indicador, transformado numa pérola incolor. Ela fitou-a por um
momento e depois espalhou-a através das coxas, tão finamente que a substância desapareceu.
Quando entrou, a mulher não olhou logo para ele. Foi direita ao balcão, pediu um café à rapariga e ela própria o levou para a mesa.
- Gostaria - protestou em tom sibilante, enquanto desembrulhava o quadrado de açúcar - que não escolhesses lugares como este.
Ele sorriu, indulgente, e bebeu o café de um trago. Ela bebeu o seu em golinhos cuidadosos, de lábios espichados. Depois tirou da mala um pequeno espelho e alguns
lenços de papel. Enxugou os lábios vermelhos e limpou uma mancha vermelha de um incisivo. Amarrotou o lenço de papel, depositou-o no pires e fechou bruscamente a
mala. Stephen observou, enquanto o papel absorvia o café derramado e se tornava castanho.
- Tens mais um lenço desses que me possas dar? - perguntou. Ela deu-lhe dois.
- Não vais chorar, pois não? - Ele chorara, num daqueles encontros.
- Preciso de me assoar - respondeu, a sorrir. A rapariga italiana sentou-se a uma mesa próxima da deles e espalhou à sua frente várias folhas de papel. Olhou-os
de relance e depois inclinou-se para a frente, até ficar com o nariz a poucos centímetros do tampo da mesa. Começou a alinhar colunas de números.
- Está a fazer o apuro da caixa - murmurou Stephen.
- Não devia ser permitido, uma criança daquela idade - disse a mulher, baixinho. O facto de estarem ambos de acordo, o que era raro, levou-os a desviarem os olhos
do rosto um do outro.
- Como está a Miranda? - perguntou Stephen, por fim.
- Está bem.
- Vou lá vê-la este domingo.
- Se é isso que queres.
- E a outra coisa... - Stephen manteve os olhos atentos à rapariga, que bamboleava agora as pernas e parecia sonhar acordada. Ou talvez estivesse à escuta.
- Sim?
- A outra coisa e que, quando as férias começarem, quero que Miranda passe alguns dias comigo.
- Ela não quer.
- Preferia ouvir isso da boca dela.
- Ela não to dirá pessoalmente. Farás com que tenha sentimentos de culpa, se lho perguntares. - Ele deu uma pancada forte na mesa, com a mão aberta.
- Escuta! - quase gritou. A rapariguinha levantou a cabeça e Stephen sentiu a sua proximidade. - Escuta - repetiu, em voz calma -, eu falarei com ela no domingo
e tirarei as minhas conclusões.
- Ela não quererá - afirmou a mulher, e fechou de novo a mala, com brusquidão, como se a filha deles estivesse encolhida lá dentro.
Levantaram-se ambos. A rapariguinha levantou-se também e aproximou-se para receber o dinheiro de Stephen, aceitando uma gorjeta generosa sem dar mostras de ter consciência
disso.
Fora do café, Stephen disse:
- Até domingo, então.
Mas a mulher afastava-se já e não o ouviu.
Nessa noite tivera o sonho molhado. O sonho em si relacionava-se com o café, a rapariguinha e a máquina do café. Terminou num prazer súbito e intenso, mas de momento
ele não conseguia recordar-se dos pormenores. Saiu da banheira quente e estonteado, à beira, pensou, de uma alucinação. Equilibrado no rebordo da banheira, esperou
que a vertigem passasse, uma certa deformação do espaço entre objectos. Vestiu-se e saiu de casa, para o pequeno jardim de árvores moribundas que partilhava com
outros moradores da praceta. Eram sete horas. Drake, que se autonomeara guarda do jardim, estava já de joelhos junto de um dos bancos. Com um raspador de tinta numa
mão e uma garrafa com um líquido incolor na outra.
- Caca de pombo - gritou a Stephen. - Os pombos cagam e ninguém se pode sentar. Ninguém.
Stephen parou atrás do velho, com as mãos profundamente enfiadas nas algibeiras, e observou-o a raspar as manchas cinzentas e brancas. Sentia-se reconfortado. Em
torno do recinto do jardim havia um carreiro estreito, batido e aprofundado pelo trânsito diário e intenso de passeadores de cães, escritores munidos de livros de
apontamentos e pares casados cm crise.
Enquanto por lá caminhava, agora, Stephen pensou, como lhe acontecia com frequência, em Miranda, sua filha. Ela fazia catorze anos no domingo, e nesse dia ele teria
de lhe comprar uma prenda. Havia dois meses, ela escrevera-lhe uma carta. Querido Paizinho, está a cuidar de si como deve ser? Pode dar-me vinte e cinco libras,
por favor, para comprar um gira-discos? Com todo o meu amor, Miranda. Ele respondera na volta do correio e arrependera-se no momento em que a carta saíra das suas
mãos. Querida Miranda, estou a cuidar de mim, mas não o suficiente para condescender com..., etc. Na realidade, era à mulher que se dirigia. Na secção de selecção
da correspondência falara com um funcionário de ar compreensivo, que o conduzira a segurar-lhe o cotovelo. "Deseja recuperar uma carta? Por aqui, se faz favor."
Passaram por uma porta de vidro e dirigiram-se para uma espécie de varandim. O simpático funcionário abarcara com um gesto largo da mão a vista espectacular que
se lhes oferecia, um hectare de homens, mulheres, máquinas e correias de transmissão em movimento. Onde deseja começar a procurar?
Ao regressar ao seu ponto de partida pela terceira vez, notou que Drake já lá não estava. O banco estava imaculado e a cheirar a álcool. Sentou-se. Enviara trinta
libras a Miranda, três notas novas de dez libras numa carta registada. Também disso se arrependera. As cinco libras a mais eram uma confissão tão explícita da sua
culpa!
Passou dois dias a tentar redigir uma carta para ela, tacteante, a respeito de nada em particular, piegas. Querida Miranda, outro dia ouvi música pop pela radio
e não pude deixar de meditar nas palavras que... Não podia conceber nenhuma resposta para semelhante carta. Mas ela chegou uns dez dias depois. Querido Paizinho,
obrigada pelo dinheiro. Comprei um Musivox Júnior igual ao da minha amiga Charmian. Com todo o meu amor, Miranda. P. S. Tem altifalantes.
De novo em casa, fez café, tomou-o no seu escritório e mergulhou no transe moderado que lhe permitia trabalhar três horas e meia ininterruptamente. Fez uma recensão
de um panfleto sobre as atitudes vitorianas para com a menstruação, completou mais três páginas de um conto que andava a escrever, fez algumas anotações no seu diário
ocasional. Escreveu à máquina: Emissão nocturna como o último alento de um velho, e riscou a frase. Tirou de uma gaveta um grosso livro de contas e lançou na coluna
do Haver: Recensão... 1500 palavras. Conto... 1020 palavras. Diário... 60 palavras. Ti rou uma esferográfica vermelha de uma caixa com um rótulo que dizia "canetas",
encerrou o dia com dois traços, fechou o livro e guardou-o de novo na gaveta. Repôs a cobertura de plástico na máquina de escrever, colocou o telefone no descanso,
recolheu a louça do café num tabuleiro, saiu e fechou a porta do escritório à chave, terminando assim o ritual das manhãs, imutável havia vinte c três anos.
Subiu rapidamente Oxford Street, comprando presentes para o aniversário da filha. Comprou uns jeans, um par de sapatos de lona decorados com as estrelas e as riscas
da bandeira americana. Comprou três T-shirts coloridas com dizeres engraçados: Chove no Meu Coração, Ainda Virgem e Universidade do Estado de Ohio. Comprou uma caixa
de ervas perfumadas para meter entre as roupas e um jogo de dados a uma mulher na rua e um colar de contas de plástico. Comprou um livro sobre heroínas, um jogo
com espelhos, um cheque-disco de cinco libras, um lenço de pescoço de seda e um cavalinho de vidro. O lenço de seda trouxe-lhe ao pensamento roupa interior. Voltou
a entrar na loja, decidido.
O silêncio pastel, erótico, da secção de lingerie despertou nele uma sensação de tabu, deu-lhe vontade de se deitar em qualquer lado. Hesitou à entrada da secção
e depois voltou para trás. Comprou um frasco de água-de-colónia noutro andar e foi para casa num estado de espírito de melancólica excitação. Colocou os presentes
em cima da mesa da cozinha e olhou-os com aversão, irritado, repugnado com o seu excesso mórbido e com o que sugeriam de condescendência. Permaneceu vários minutos
parado diante da mesa da cozinha, fitando um objecto de cada vez, tentando ressuscitar a certeza com que o comprara. Pôs o cheque-disco a um lado; meteu o resto
das coisas num saco de plástico e atirou-o para o armário do corredor. Depois descalçou os sapatos e as peúgas, deitou-se na cama por fazer, apalpou com o dedo a
mancha incolor que endurecera no lençol e acabou por adormecer até escurecer.
Nua da cintura para cima, Miranda Cooke estava deitada, atravessada, na cama, de braços abertos, rosto enterrado na almofada e esta, por seu turno, profundamente
sepultada debaixo do seu cabelo louro. Em cima de uma cadeira ao lado da cama, um transistor transmitia metodicamente os "vinte mais". O Sol do fim da tarde brilhava
através das cortinas cerradas e mergulhava o quarto no verde cérulo de um aquário tropical. A pequena Charmian, a amiga de Miranda, roçava as unhas, para trás e
para diante, através das costas, brancas e sem mácula de Miranda.
Charmian também estava despida, e o tempo parecia ter parado. Alinhadas ao longo do espelho do toucador, com os pés ocultos por boiões e bisnagas de cosméticos e
as mãos erguidas num gesto de perpétua surpresa, encontravam-se as bonecas abandonadas da infância de Miranda. As carícias de Charmian foram tornando-se mais lentas,
até terminarem, e as suas mãos pousaram, a descansar, no fundo das costas da sua amiga. Olhou para a parede à sua frente, a balançar distraidamente o corpo. Escutando.
... They're all locked in the nursery,
They got earphone heads, they got dirty necks.
They're so so twentieth century2.
- Não sabia que aquilo estava na moda - observou.
Miranda torceu a cabeça e falou de debaixo do cabelo:
- Voltou. Os Rolling Stones costumavam cantá-la.
Don'cha think there's a place for you
In Between the sheets3?
3... Não achas que há um lugar para ti entre os lençóis?
Quando o disco chegou ao fim, Miranda falou, irritada, por cima do palavreado rotineiro e histérico do apresentador:
- Paraste. Porque é que paraste?
- Estava a fazê-lo há séculos.
- Disseste meia hora nos meus anos. Prometeste.
Charmian recomeçou. Miranda, suspirando como quem
recebe o que lhe é devido e nada mais, mergulhou a boca na almofada. Na rua, o trânsito sussurrava apaziguadoramente, o silvo da sereia de uma ambulância subiu e
desceu, um pássaro começou a cantar, parou, recomeçou, uma campainha tocou, algures, no andar de baixo e passados momentos uma voz chamou, repetidamente, soou a
sereia de outra ambulância, desta vez mais distante... Longe, tudo tão longe da penumbra aquática onde o tempo parara, onde Charmian roçava suavemente as unhas pelas
costas da amiga, por ser o dia dos seus anos. A voz ouviu-se de novo. Miranda mexeu-se e disse:
- Creio que é a minha mãe a chamar-me. O meu pai deve ter chegado.
Quando tocou à campainha da porta principal daquela casa onde vivera dezasseis anos, Stephen presumiu que seria a filha quem atenderia. Geralmente era. Mas foi a
mulher. Gozando da vantagem de três degraus de cimento, ela olhou-o irritadamente de alto, esperando que ele falasse. Stephen não tinha nada preparado para lhe dizer.
- A... a Miranda está? - acabou por perguntar. - Venho um pouco atrasado - acrescentou e, aproveitando a sua oportunidade, subiu os degraus. No último momento, exactamente
no último momento e não antes, ela desviou-se para o lado e abriu mais a porta.
- Está lá em cima - respondeu numa voz sem timbre, enquanto Stephen tentava passar por ela sem lhe tocar. - Vamos para a sala grande.
Stephen foi atrás dela para a sala confortável e imutável, forrada do chão ao tecto com os livros que ele lá deixara. A um canto, protegido pela cobertura de lona,
estava o seu piano de cauda. Passou a mão pela aresta da curva. Apontou para os livros e disse:
- Tenho de te livrar de tudo isso.
- Quando te calhar - respondeu ela, enquanto lhe servia um cálice de sherry. - Não há pressa.
Stephen sentou-se ao piano e levantou a tampa.
- Alguma de vocês toca, agora?
A mulher atravessou a sala com o copo e parou atrás dele.
- Eu nunca tenho tempo. E a Miranda agora não está interessada.
Ele abriu as mãos num acorde suave, demorado, susteve-o com o pedal e ouviu-o morrer, devagar.
- Ainda afinado, então?
- Sim.
Ele tocou mais uns acordes, começou a improvisar uma melodia, quase uma melodia. Seria capaz de esquecer, alegremente, porque ali fora e ficar sozinho a tocar, uma
hora ou mais, a tocar no seu piano.
- Há mais de um ano que não toco - disse, à guisa de explicação. A mulher estava agora junto da porta, preparada para chamar Miranda, e teve de conter o fôlego para
dizer:
- Sim? Acho que estás a tocar bem. Miranda - chamou. - Miranda, Miranda - subindo e descendo em três notas, a terceira mais alta do que a primeira, e prolongando-se
interrogadoramente. Stephen reproduziu o conjunto das três notas e a mulher calou-se, de repente. Olhou vivamente na sua direcção. - Muito engraçadinho.
- Sabes que tens uma voz musical - disse Stephen, sem ironia. Ela recuou mais para o interior da sala.
- Ainda continuas com a intenção de pedir a Miranda que vá ficar contigo?
Stephen fechou o piano e resignou-se ao recomeço das hostilidades.
- Queres dizer que tens andado a influenciá-la?
A mulher cruzou os braços.
- Ela não irá contigo. Pelo menos sozinha.
- Em minha casa não há espaço também para ti.
- Graças a Deus!
Stephen levantou-se e ergueu a mão como um chefe índio.
- Não vamos começar - pediu. - Não vamos começar.
Ela acenou a cabeça, voltou para a porta e chamou a filha
de ambos num tom uniforme, imune a imitações. Depois disse, calmamente:
- Referia-me a Charmian. A amiga de Miranda.
- Como é ela?
A mulher hesitou.
- Está lá em cima. Vê-la-ás.
- Ah...
Sentaram-se, calados. Stephen ouviu, vindos de cima, sons de risos, o silvo distante da canalização, a porta de um quarto a abrir-se e a fechar-se. Tirou da sua
estante um livro sobre sonhos e folheou-o. Teve consciência de que a mulher saía da sala, mas não levantou os olhos. A luz do Sol no poente iluminava a sala. Uma
emissão durante um sonho revela a natureza sexual do todo do sonho, por muito obscuro e improvável que o seu conteúdo seja. Os sonhos que culminam com uma emissão
podem revelar o objecto do desejo de quem sonha, assim como os seus conflitos íntimos. Um orgasmo não pode mentir.
- Olá, paizinho - disse Miranda. - Esta é Charmian, minha amiga.
A luz batia nos olhos de Stephen e ao princípio ele julgou que elas estavam de mãos dadas, como mãe e filha lado a lado à sua frente, iluminadas por trás pela claridade
cor-de-laranja do Sol moribundo, à espera de serem cumprimentadas. Os seus risos recentes pareciam escondidos no seu silêncio. Stephen levantou-se e abraçou a filha.
Achou-a diferente no contacto, talvez mais forte. O seu cheiro também não lhe era familiar; ela tinha, finalmente, uma vida íntima, de que não tinha de dar contas
a ninguém. Os seus braços nus estavam muito quentes.
- Feliz aniversário - disse Stephen, fechando os olhos ao apertar-lhe a mão e a preparar-se para cumprimentar a minúscula figura que se encontrava ao lado dela.
Recuou, a sorrir, e quase ajoelhou à frente dela, no tapete, para dar um aperto de mão àquela figurinha de boneca, que não teria mais de um metro e cinco e cujo
rosto desengraçado e demasiado grande lhe devolvia, sem hesitar, o sorriso.
- Li um dos seus livros - foi a sua primeira e calma observação.
Stephen voltou a sentar-se na cadeira. As duas raparigas continuavam paradas à sua frente, como se desejassem ser descritas e comparadas. A T-shirt de Miranda ficava-lhe
vários centímetros acima da cintura e os seus seios a crescer afastavam-lhe a bainha da camisola da barriga. A sua mão repousava no ombro da amiga, num gesto protector.
- Deveras? - perguntou Stephen, após uma pausa um tanto longa. - Qual deles?
- Aquele sobre a evolução.
- Ah... - Stephen tirou da algibeira o sobrescrito contendo o cheque-disco e deu-o a Miranda. - E pouca coisa - disse, lembrando-se do saco cheio de presentes.
Miranda sentou-se numa cadeira para abrir o sobrescrito. A anã, porém, continuou parada diante dele, a olhá-lo fixamente. Apalpava a bainha do seu vestido infantil.
- Miranda falou-me muito de si - disse, cortesmente.
Miranda levantou a cabeça e deu uma gargalhadinha.
- Não falei nada - protestou, e Charmian prosseguiu:
- Ela orgulha-se muito de si. - Miranda corou. Stephen perguntou-se que idade teria Charmian.
- Não lhe dei muitos motivos para isso - surpreendeu--se a dizer, e envolveu a sala num gesto, para indicar a natureza da sua situação doméstica. A minúscula rapariga
fitou-o pacientemente nos olhos e ele sentiu-se por um instante à beira da confissão total. "Nunca satisfiz a minha mulher no casamento, compreende. Os seus orgasmos
aterrorizavam-me."
Miranda tirara o seu presente do sobrescrito. Soltando um pequeno grito, levantou-se da cadeira, segurou a cabeça do pai entre as mãos e, inclinando-se, beijou-lhe
a orelha.
- Obrigada - agradeceu, calorosa e espalhafatosamente - obrigada, obrigada.
Charmian aproximou-se dois passos, até ficar quase entre os joelhos afastados dele. Miranda sentou-se no braço da cadeira do pai. Ficou mais escuro. Stephen sentia
o calor do corpo de Miranda no pescoço. Ela deixou-se escorregar mais um bocadinho e apoiou a cabeça no ombro dele. Charmian mexeu-se. Miranda disse:
- Estou contente por ter vindo - e ergueu os joelhos, para se fazer mais pequena.
Stephen ouvia a mulher a andar de uma divisão da casa para outra. Levantou o braço e passou-o pelos ombros da filha, com cuidado para não lhe tocar nos seios, e
apertou-a a si.
- Vais ficar comigo quando as férias começarem?
- A Charmian também... - Miranda falou com vozinha de criança pequena, mas as suas palavras situavam-se delicadamente entre a pergunta e a estipulação de uma condição.
- A Charmian também - concordou Stephen. - Se ela quiser.
Charmian baixou os olhos e disse, afectadamente:
- Obrigada.
Durante a semana seguinte, Stephen fez preparativos. Varreu o seu único quarto livre, lavou os vidros e pôs cortinas novas nas janelas. Alugou um televisor. De manhã
trabalhava com o torpor habitual e registava os resultados no livro de contas. Forçou-se finalmente a passar a escrito a parte do sonho de que conseguia lembrar-se.
Os pormenores pareciam estar a acumular-se satisfatoriamente. A sua mulher estava no café. Era para ela que ele estava a pedir café. Uma rapariga nova pegou numa
chávena e aproximou-a da máquina. Mas agora ele era a máquina, agora ele enchia a chávena. Esta sequência, assim cuidadosamente, enigmaticamente registada no seu
diário, preocupava-o menos. Possuía, na sua opinião, um certo potencial literário. Precisava de carne, de enchimento, e como ele não conseguia lembrar-se de mais
nada teria de inventar o resto. Pensou em Charmian, em como ela era pequena, e observou com atenção as cadeiras colocadas à volta da mesa da sala de jantar. Ela
era tão baixa que ficaria bem numa cadeira alta de bebé. Foi a um armazém e escolheu, com cuidado, duas almofadas. Desconfiou do impulso de comprar presentes para
as duas raparigas e resistiu-lhe. O que não o impediu de querer fazer coisas por elas. Que poderia fazer? Arrancou crostas de porcaria antiga de debaixo do lava-louça
da cozinha, espanejou moscas e aranhas mortas dos candeeiros, ferveu numa barreia panos de louça fétidos; comprou um piaçaba e raspou o sarro da sanita. Coisas em
que elas nunca reparariam. Tornara-se, realmente, num velho idiota assim tão grande? Telefonou à mulher.
- Nunca me tinhas falado de Charmian.
- Pois não - admitiu ela. - É uma coisa relativamente recente.
- Bem... - encolheu os ombros - Que opinião tens a respeito dela?
- Por mim, tudo bem - respondeu ela, muito descontraída. - São boas amigas.
Estava a experimentá-lo, pensou ele. Odiava-o pela sua timidez, pela sua passividade e por todas as horas desperdiçadas entre os lençóis. Tinham sido precisos muitos
anos de casamento para ela o dizer. A experimentação na sua escrita, a falta dela na sua vida. Odiava-o. E agora tinha um amante, um amante vigoroso. E no entanto
ele queria perguntar: "Achas bem, achas bem a nossa encantadora filha com uma amiga cujo lugar é num circo ou num bordel, adornada de sedas a servir chá? A nossa
filha de cabelos louros, a nossa filha perfeitamente constituída, o nosso tenro botão, não achas perverso?"
- Espera-as na quinta-feira à noite - disse a mulher, à guisa de despedida.
Quando Stephen abriu a porta, começou por ver apenas Charmian, e só depois distinguiu Miranda, fora do apertado círculo de luz do vestíbulo, a debater-se com a bagagem
de ambas. Charmian estava parada com as mãos nas ancas, a pesada cabeça ligeiramente inclinada para um lado. Disse, sem o cumprimentar:
- Tivemos de vir de táxi e ele está lá em baixo à espera.
Stephen beijou a filha, ajudou-a com as malas e desceu para pagar o táxi. Quando voltou, um pouco ofegante dos dois lanços de degraus, a porta principal da sua casa
estava fechada. Bateu e teve de esperar. Foi Charmian quem abriu a porta e se atravessou no seu caminho.
- Não pode entrar - declarou ela, solenemente. - Terá de voltar mais tarde - e fez menção de fechar a porta.
Rindo, no seu jeito nasalado e pouco convincente, Stephen lançou-se para a frente, pegou-lhe por baixo dos braços e ergueu-a no ar. Ao mesmo tempo, entrou em casa
e fechou a porta com o pé. Rectificando: ele quisera erguê-la no ar, erguê-la alto como a uma criança, mas ela era pesada, pesada como uma pessoa adulta, e o mais
que ele conseguira fora que os seus pés se arrastassem poucos centímetros acima do chão. Ela bateu-lhe na mão com os punhos e gritou:
- Ponha-me... - as últimas palavras foram interrompidas pelo bater da porta. Stephen largou-a imediatamente. - ... no chão - concluiu ela, suavemente.
Estavam parados no corredor iluminado, ambos um pouco ofegantes. Ele viu pela primeira vez, claramente, o rosto de Charmian. A sua cabeça era redonda e pesada, o
seu lábio inferior estava permanentemente espichado e ela tinha o início de um duplo queixo. Tinha nariz achatado e a leve negrura penugenta de um buço. O seu pescoço
era forte e taurino, os olhos grandes e calmos, muito afastados e castanhos como os de um cão. Não era feia, não, com aqueles olhos não era feia. Miranda estava
ao fundo do comprido corredor. Trazia jeans, dos que já se compram desbotados, e uma blusa amarela. Tinha o cabelo entrançado e atado nas pontas com uma tira de
sarja azul. Aproximou-se e pôs-se ao lado da amiga.
- Charmian não gosta que a levantem - explicou.
Stephen conduziu-as para a sua sala de estar.
- Desculpe - disse a Charmian, e pôs-lhe a mão no ombro, um instante. - Não sabia.
- Eu estava apenas a brincar quando abri a porta - redarguiu a rapariga, calmamente.
- Sim, claro - apressou-se Stephen a dizer. - Nem eu pensei outra coisa.
Durante o jantar, que Stephen comprara já feito num restaurante italiano local, as raparigas falaram-lhe da escola. Ele autorizou-as a beber um pouco de vinho e
elas riam-se muito e agarravam-se uma à outra quando cambaleavam. Avivaram a memória uma da outra enquanto contavam uma história a respeito do director da sua escola,
que espreitava pelas saias das raparigas acima. Ele lembrou-se de algumas anedotas dos seus próprios tempos de estudante, ou talvez fossem dos tempos de outras pessoas,
mas mesmo assim contou-as e elas riram-se, encantadas. Ficaram muito excitadas. Suplicaram-lhe que lhes desse mais vinho. Ele declarou que um copo bastava.
Charmian e Miranda disseram que queriam lavar a louça. Stephen estirou-se numa poltrona com um grande brandy, embalado pelo som das vozes das raparigas e pelo ruído
rústico do entrechocar dos pratos. Era ali que ele vivia, aquela era a sua casa. Miranda serviu-lhe café e sentou-se na mesa baixa com a pseudodeferência de uma
criada de mesa.
- O senhor deseja café? - perguntou.
Stephen mudou de posição na cadeira e ela sentou-se ao seu lado. Passava facilmente de mulher a criança. Ergueu as pernas para cima como da outra vez e aconchegou-se
contra o seu corpulento e hirsuto pai. Desfez as tranças e deixou o cabelo espalhar-se no peito de Stephen, dourado à luz eléctrica.
- Arranjaste um namorado na escola? - perguntou ele.
Ela abanou a cabeça, mas conservou-a comprimida contra o ombro dele.
- Não consegues arranjar um namorado? - insistiu Stephen.
Ela endireitou-se abruptamente e afastou o cabelo do rosto.
- Há montes de rapazes - disse, zangada -, montes deles, mas são tão estúpidos, tão exibicionistas. - Nunca a semelhança entre a mulher e a filha lhe parecera tão
forte. Esta olhava-o, furiosa. Incluía-o entre os rapazes da escola. - Estão sempre a fazer coisas.
- Que espécie de coisas?
Miranda sacudiu impacientemente a cabeça.
- Não sei... A maneira como se penteiam e dobram os joelhos.
- Dobram os joelhos?
- Sim. Quando julgam que estamos a vê-los. Param defronte da nossa janela e fingem que estão a pentear o cabelo, quando estão é a olhar para nós, a mostrar-se. Assim.
Saltou da cadeira e curvou-se ao canto da sala defronte de um espelho imaginário, muito dobrada para a frente como uma cantora para um microfone, com a cabeça grotescamente
inclinada, a pentear-se com movimentos longos e esmerados de um pente imaginário; recuou passo, ajeitou-se e depois penteou-se de novo. Foi uma imitação furiosa.
Charmian também a observava, parada à entrada da sala com uma chávena de café em cada mão.
- E a Charmian - perguntou Stephen, despreocupadamente -, tem um namorado?
A rapariga pousou as chávenas e respondeu:
- Claro que não - e depois levantou a cabeça e sorriu aos dois com a tolerância de uma velha sábia.
Mais tarde mostrou-lhes o quarto delas.
- Só há uma cama - explicou. - Pensei que não se importariam de a partilhar.
Era uma cama enorme, um quadrado com dois metros e dez de lado, um dos poucos objectos grandes que trouxera consigo quando se separara. Os lençóis eram vermelho-escuros
e muito velhos, do tempo em que todos os lençóis eram brancos. Não se importava de dormir entre eles agora; tinham sido um presente de casamento. Charmian deitou-se
atravessada na cama; pouco mais espaço ocupava do que uma das almofadas. Stephen deu-lhes as boas-noites. Miranda seguiu-o até ao vestíbulo e pôs-se em bicos de
pés para o beijar na face.
- O paizinho não é um exibicionista - murmurou, e encostou-se a ele. Stephen manteve-se perfeitamente imóvel.
- Gostaria que voltasse para casa - acrescentou ela, e ele beijou-lhe o alto da cabeça.
- Esta casa é tua - respondeu. - Agora tens duas casas.
- Soltou-se e conduziu-a à entrada do quarto. Segurou-lhe a mão e apertou-lha. - Até amanhã - murmurou.
Deixou-a ali e foi apressadamente para o seu escritório. Sentou-se, horrorizado com a sua erecção, exaltado. Passaram dez minutos. Pensou que devia sentir-se triste,
analítico; aquele assunto era sério. Mas apetecia-lhe cantar, apetecia-Ihe tocar piano, apetecia-lhe passear a pé. Não fez nenhuma dessas coisas. Ficou sentado,
imóvel, de olhos fitos em frente, sem pensar em nada em particular, e aguardou que o arrepio de excitação lhe deixasse o ventre.
Quando isso aconteceu foi para a cama. Dormiu mal. Durante muitas horas atormentou-o o pensamento de que ainda estava acordado. Acordou completamente de sonhos fragmentados
para uma escuridão total. Tinha a sensação de que durante algum tempo estivera a ouvir um som. Não se lembrava de que som era, somente de que não gostara de o ouvir.
Agora estava tudo silencioso; a escuridão zumbia nos seus ouvidos. Tinha vontade de urinar, mas por instantes teve medo de sair da cama. Veio-lhe ao espírito a certeza
da própria morte, como lhe acontecia de vez em quando, mas desta vez foi a certeza de que ia morrer agora, às três e um quarto da manhã, deitado imóvel, com o lençol
ainda puxado até ao pescoço e desejando, como todos os animais mortais, urinar. Acendeu a luz e foi à casa de banho. A gaita estava-lhe pequena nas mãos, castanha
e engelhada pelo frio, ou talvez pelo medo. Teve pena dela. Enquanto urinava, o jorro de urina dividiu-se em dois. Puxou um pouco o prepúcio e os jorros convergiram.
Teve pena de si próprio. Voltou para o corredor e, ao fechar a porta da casa de banho, abafando o barulho do autoclismo, ouviu de novo aquele som, o que ouvira enquanto
dormia. Um som tão esquecido, tão absolutamente familiar que só agora, ao avançar muito cautelosamente pelo corredor, compreendeu que se tratava do pano de fundo
de todos os outros sons, da moldura de todas as ansiedades. O som produzido pela sua mulher no, ou ao aproximar-se do orgasmo. Parou a alguns metros do quarto das
raparigas. Era um gemido baixo emitido através de uma tosse áspera, rouca. O seu volume aumentava imperceptivelmertte por fracções de tom; no fim descia, mas não
muito, e continuava mais alto do que o ponto de partida. Stephen não se atreveu a aproximar-se mais da porta. Apurou os ouvidos. O fim chegou e ele ouviu a cama
ranger um pouco e passos no quarto. Viu a maçaneta da porta girar. Como um sonhador, não fez quaisquer perguntas, esqueceu a sua nudez, não esperava nada.
Miranda piscou os olhos na claridade. Tinha o cabelo louro solto. A camisa de dormir de algodão branca chegava-lhe aos tornozelos e as suas pregas escondiam-lhe
as linhas do corpo. Podia ter qualquer idade. Tinha os braços apertados à volta do próprio corpo. O pai estava à sua frente, muito quieto, maciço, um pé adiante
do outro como se tivesse ficado petrificado a meio de um passo, braços frouxos pendentes ao lado do corpo, os seus pêlos pretos nus, o seu Eu nu, castanho, engelhado.
Ela podia ser uma criança ou uma mulher, podia ter qualquer idade. Deu um pequeno passo em frente.
- Paizinho - gemeu -, não consigo adormecer.
Pegou-lhe na mão e ele conduziu-a ao quarto. Charmian estava enroscada do outro lado da cama, de costas para eles. Estava acordada, estava inocente? Stephen levantou
a roupa e Miranda meteu-se entre os lençóis. Ele aconchegou-a e sentou-se na borda da cama. Ela compôs o cabelo.
- As vezes tenho medo, quando acordo a meio da noite - disse ela.
- Também eu - confessou ele, e inclinou-se e beijou-a ao de leve nos lábios.
- Mas não há realmente nada de que ter medo, pois não?
- Não. Nada. - Ela aconchegou-se melhor entre os lençóis vermelho-escuros e olhou para o rosto do pai.
- Mesmo assim, diga-me qualquer coisa, diga-me qualquer coisa que me faça adormecer. - Stephen olhou para o outro lado, para Charmian.
- Amanhã, vê no armário do corredor. Está lá um saco cheio de prendas.
- Para a Charmian também?
- Sim. - Observou o rosto da filha à luz que vinha do corredor. Começava a sentir frio. - Comprei-as para os teus anos - acrescentou.
Mas ela já estava a dormir e quase a sorrir, e na palidez do seu pescoço inclinado para trás ele julgou ver, numa luminosa manhã da sua infância, um campo de ofuscante
neve branca que, rapazinho de oito anos, não se atrevera a macular com pegadas.
Para cá e para lá
Agora Leech estende as pernas, estica-as até tremerem do esforço, entrelaça os dedos atrás da cabeça, estala-os nos nós, solta a sua risada deliberada, porca, ao
que finge estar a ver a média distância e bate-me devagarinho na nuca com o cotovelo. Parece que acabou, não achas?
É verdade? Estou deitado às escuras. É verdade, penso que o velho para cá e para lá a embalou até ela adormecer. O antigo para cá e para lá não tinha fim e a suspensão
chegava despercebida como o próprio sono. Subida e descida, subida e descida, entre a descida e a subida o hiato arriscado e silencioso, a decisão que ela toma de
continuar.
O céu um branco-amarelado vazio, o odor do canal reduzido pela distância ao cheiro de cerejas doces maduras, a melancolia de aviões de passageiros circulando a diferentes
altitudes aguardando instruções para aterrar e aqui no escritório outros contando os jornais do dia, é esse o seu trabalho. Colar colunas de palavras impressas em
fichas de cartão.
Se consigo estar deitado às escuras posso ver a escura pele pálida no espinhaço frágil do maxilar, esculpe a forma de uma perna de cão no escuro. Os olhos encovados
estão abertos e invisíveis. Através de lábios quase entreabertos um ponto luminoso cintila em saliva e dente, a faixa espessa de cabelo mais preta do que a noite
circundante. As vezes olho para ela e penso quem morrerá primeiro, quem morrerá primeiro, tu ou eu? O peso colossal do silêncio, quantas horas mais?
Leech. Vejo Leech no mesmo corredor em consulta frequente com o director. Vejo-os, juntos a percorrerem o comprido corredor sem portas. O director caminha erecto,
mãos afundadas nas algibeiras fazendo tilintar bugigangas, e Leech curva-se subordinadamente, de cabeça torcida na direcção do pescoço do seu superior, mãos apertadas
atrás das costas, os dedos de uma mão apertados à volta do pulso da outra para auscultar escrupulosamente a sua própria pulsação. Eu vejo o que o director vê, as
nossas imagens coincidem - Leech e este homem; gire-se o anel de metal brilhante e eles separam--se como molas, um de pé, outro sentado, posando ambos.
Cintila saliva num ponto de um dente. Escuto a respiração dela, uma elevação e um afundamento rítmicos, ar de sono profundo, não é ela agora. Uma necessidade animal
segue o rasto de outra através da noite, sono de pelagem preta derrubou e asfixiou o prazer de um ramo baixo, a velha árvore estala, desapareceu, recordação, escuto-a...
a casa tem um cheiro doce. O antigo, suave para cá e para lá embalou-a até adormecer. Lembras-te do pequeno bosque, das árvores nodosas e anãs, dos ramos c galhos
sem folhas fundidos num dossel, do que nós lá encontrámos? Do que vimos? Ah... o minúsculo, paciente heroísmo de estar acordado, o buraco árctico maior do que o
gelo circundante aumenta, grande de mais para assumir uma forma, inclusive dos limites ópticos da visão. Deito-me no escuro e olho para dentro dele, deito-me nela
e olho para fora, e, noutro quarto, uma das filhas dela grita a dormir:
- Um urso!
Primeiro aí vem Leech, não, primeiro aqui estou eu para o fim de uma manhã, reclinado, sorvendo, privado, e Leech aparece, saúda-me, bate-me nas costas, uma palmada
maldosa, cordial, entre as omoplatas, abaixo do pescoço. Pára junto da chaleira de torneira, de pernas afastadas como um urinador público, com o líquido castanho
a pingar para a chávena e ele a perguntar se me lembro (desta) ou (daquela) conversa. Não, não. Aproxima-se com a chávena. Não, não, digo-lhe, não me lembro de nada,
digo-lhe quando se instala no comprido sofá, tão perto de mim quanto lhe é possível sem realmente... se tornar eu. Ah, o travo amargo da pele de um estranho enrolada
em nós para ocultar o mais remoto cerne fecal. A sua perna direita toca na minha perna esquerda.
Na hora fria antes do alvorecer, as filhas dela subirão para a cama, primeiro uma e depois a outra, algumas vezes uma sem a outra, caem entre o picante calor adulto,
agarram-se aos flancos dela como a estrela-do-mar (lembras-te da estrela--do-mar agarrada à sua rocha?) e emitem leves ruídos líquidos com as suas línguas. Lá fora,
na rua, passos apressados acer-cam-se e distanciam-se ladeira abaixo. Estou deitado à beira da ninhada, Robinson Crusoé fazendo os seus planos para paliçadas de
estacas finalmente aguçadas, espingardas que dispararão sozinhas ao mais leve tremor de um passo que não seja seu, espera que as suas cabras e os seus cães procriem,
não encontrarei outro ninho assim de criaturas tolerantes. Quando uma das suas filhas vem demasiado cedo, pela calada da noite, ela acorda e leva-a para a cama,
volta e adormece, os joelhos subidos para a barriga. A sua casa tem um cheiro doce, cheira a crianças a dormir.
Com os movimentos lentos de alguém que sente a necessidade de ser observado, Leech tira uma caneta da algibeira do peito, examina-a, recoloca-a na algibeira, agarra
o meu braço estendido quando vou apanhar o livro que caiu para o chão no momento da sua palmada. Um espaço significativo junto da porta sugere o director, a possibilidade
da sua chegada.
O peso colossal. Lembras-te, dorminhoca, do pequeno bosque de árvores anãs nodosas, os ramos e galhos sem folhas fundidos num dossel, telhado escuro pingando luz
para o solo acre. Andávamos em bicos de pés no absorvente silêncio vegetal, ele fazia-nos falar baixinho, arrancar as nossas sibilantes através de raízes ocultas
por baixo dos nossos pés, um mundo muito velho e íntimo. À nossa frente, luminosidade,o dossel abatera-se como se um peso muito grande se tivesse em tempos despenhado
do céu. O semicírculo luminoso, os ramos e galhos das árvores pendendo para o solo numa cascata brilhante, e alojados ali a meio caminho, torrente acima, embranquecidos
pelo sol e nus, rigorosos contra a floresta cinzenta baça, alojados ali ossos, ossos brancos de uma criatura que ali repousava, um crânio de cavidades rasas, uma
espinha comprida e curva adelgaçando para a ponta delicada, e a seu lado o monte meticuloso de outros ossos, delgados, com extremidades como punhos cerrados.
Os dedos de Leech possuem a tenacidade de uma pata de galinha. Quando os solto do meu braço, eles curvam-se em garra, impessoalmente. Trata-se de um homem solitário?
A quem, porque toquei na sua mão, me sinto obrigado a falar, como amantes de olhos luminosos, deitados de costas debaixo de um lençol, iniciam uma conversa. Seguro
as minhas próprias mãos no colo e observo corpúsculos caindo através de uma lança de sol.
Às vezes olho para ela e penso quem morrerá primeiro... cara a cara, hibernando na desordem de colchão de penas e manta de retalhos, ela coloca uma mão sobre cada
uma das minhas orelhas, toma-me a cabeça entre as suas palmas, olha--me com olhos pretos, densos, e sorriso franzido que não deixa ver-lhe os dentes... então eu
penso, serei eu, eu morrerei primeiro, e tu viverás talvez para sempre.
Leech pousa a chávena (como lhe tornou castanho o rebordo), recosta-se, estende as pernas, estica-as até tremerem do esforço e observa comigo os corpúsculos caindo
através de uma lança de sol, e para lá disso o buraco de gelo, em cima, longe, onde me deito ao lado da minha amante adormecida, onde me deito olhando fixamente
para dentro, olhando longamente para trás. Reconheço o colchão de penas e a manta de retalhos, o encanto do ferro forjado da cama... Leech pousa a chávena, recosta-se,
estala os nós dos dedos atrás da cabeça, que mexe a indicar a sua intenção de se mover, uma percepção do espaço vazio junto da porta, um desejo de ser acompanhado
no caminho.
Uma voz quebra o silêncio, uma luminosa flor vermelha caída na neve, uma das filhas dela grita num sonho. - Um urso! - o som indistinto do seu sentido. Silêncio,
e depois novamente, um urso, mais suavemente desta vez, com um tom decrescente de desapontamento... agora, um silêncio dramático pela sua ausência da voz sucinta...
agora imperceptivelmente... agora, silêncio habitual, sem nenhumas expectativas, o peso do silêncio, a pós-imagem luminosa de ursos num laranja a dissolver-se. Vejo-os
desaparecer e fico deitado à espera ao lado da minha amiga adormecida, viro a cabeça na almofada e encontro os seus olhos abertos.
Levanto-me finalmente e sigo Leech através da sala vazia e ao longo do corredor sem portas onde o tenho visto em consulta frequente, andando, erecto ou curvado.
O director e o seu subordinado, não podemos ser distinguidos daqueles que receamos... Alcanço Leech, que está a apalpar a fazenda do seu fato, indicador e polegar
giram, um de cada lado da sua lapela, num movimento que desacelera e pára enquanto ele considera as palavras que vai dizer, e que são: - Que pensas dele, do meu
fato? - acompanhadas pelo mais ténue dos sorrisos. Paramos no corredor voltados um para o outro, por baixo de nós os nossos reflexos atrofiados no chão encerado.
Vemos o reflexo um do outro, mas não o nosso.
A densa faixa de cabelo é mais preta do que a noite circundante, a pele pálida no recorte frágil do maxilar esculpe a forma de uma perna de cão... - Foste tu? -murmura
ela -, ou foram as crianças? - Algum vago movimento onde estão os seus olhos diz que eles estão fechados. O ritmo da sua respiração fortalece-se, é a automação iminente
de um corpo adormecido. Não foi nada, foi um sonho, uma voz na escuridão como uma flor vermelha na neve... Ela cai de costas, flutua para o fundo de um poço profundo
e, olhando para cima, pode observar o círculo de luz que se afasta, de céu interrompido pela silhueta da minha cabeça e dos meus ombros observando, muito longe.
Desce flutuando, as suas palavras sobem flutuando, passando por ela no caminho e chegando até mim abafadas por ecos. Ela grita, entra dentro de mim enquanto adormeço,
entra dentro...
Com uma manobra similar de indicador e polegar, estendo a mão e toco na lapela, e depois toco na minha própria, a sensação familiar de cada tecido, o calor corporal
que eles transmitem... O cheiro a cerejas doces maduras, a melancolia de aviões de passageiros a circular a diferentes altitudes, aguardando instruções para aterrar;
é isto, não podemos ser distinguidos por aqueles que receamos. Leech agarra o meu braço estendido e sacode-o. Abre os olhos, abre os olhos. Verás que não tem semelhanças
nenhumas com o teu. As lapelas aqui são mais largas, o casaco tem duas rachas atrás, a meu pedido, e, embora sejam ambos do mesmo tom de azul, o meu tem pequenas
pintas brancas e o efeito do conjunto é mais leve. Ao som de passos muito atrás de nós prosseguimos o nosso caminho.
Adormecida e tão húmida? A sinestesia do antigo para cá e para lá, a água salgada e os armazéns de especiarias, uma elevação acima dos lisos contornos alça-se e
mergulha recortada no horizonte como uma árvore gigante engonçada no céu, uma língua de carne. Beijo e chupo onde as suas filhas chuparam. Anda, disse ela, não lhe
mexas. Os ossos brancos de uma criatura qualquer de que eu queria aproximar-me e em que queria tocar, o crânio de cavidades rasas, a espinha comprida e curva adelgaçando
para a ponta delicada... Não lhe mexas, disse ela quando estendi o braço. Inequívoco o terror daquelas palavras, ela disse que era um pesadelo e apertou contra si
o cesto do nosso piquenique - quando nos abraçámos, uma garrafa bateu numa lata. De mãos dadas, corremos através do bosque e das encostas, à volta das moitas de
tojo, o grande vale por baixo de nós, as boas grandes nuvens, o bosque uma cicatriz rasa no verde baço.
Sim, é hábito do director avançar alguns passos na sala e parar para uma observação global das actividades dos seus subordinados. Tirando um congestionamento do
ar (o próprio espaço que o ar ocupa comprime-se), nada muda; toda a gente vê, ninguém olha... O olhar do director está afundado em gordura contida por pele maravilhosamente
translúcida; acumulou-se na aresta do zigoma e agora, como um glaciar, infiltra-se na órbita. O olho afundado e autoritário percorre, rápido, a sala, a secretária,
rostos, a janela aberta, e fixa-se, como uma garrafa cm movimento giratório lento, em mim... Ah, Lcech, diz.
Em casa dela cheira bem, cheira docemente a crianças a dormir, a gatos a secarem-se no quente, a pó a aquecer-se nas lâmpadas de um velho aparelho de rádio - são
estas as notícias, menos feridos, mais mortos? Como posso ter a certeza de que a Terra está a girar a caminho da manhã? De manhã dir-lhe-ei, por cima das chávenas
vazias e das nódoas, mais memória do que sonho, reivindico o estado de vigília nos meus sonhos. Nada exagerado além de pormenores delicados de repugnância física,
e mesmo estes apenas apropriadamente exagerados, e todos vistos através, assim afirmarei, de um buraco tão grande que não havia gelo para o rodear.
É sossegado aqui, na mesa de cavalete junto da janela. Isto é o trabalho, nem feliz, nem infeliz, examinando os recortes devolvidos. Isto é o trabalho, encontrar
as categorias apropriadas para o sistema de arquivo. O céu branco-amarelado vazio, o odor do canal reduzido pela distância ao cheiro de cerejas doces maduras, a
melancolia de aviões de passageiros aguardando instruções para aterrar e algures, no escritório, outros cortam os jornais do dia, colam colunas de palavras impressas
em fichas de cartão; poluição/ar, poluição/ruído, poluição/água, o som delicado de tesouras, o movimento da cola nos frascos, uma mão empurrando uma porta para a
abrir. O director avança diversos passos na sala e pára para uma observação global da actividade dos seus subordinados.
Dir-lhe-ei... ela suspira e agita-se, sacode o cabelo por escovar de cima dos olhos húmidos, faz menção de se levantar, mas permanece sentada, envolve com as mãos
em concha um jarro - um presente comprado para si própria numa loja de bugigangas. Nos seus olhos, a janela desenha pequenos quadrados brilhantes, sob os seus olhos
cúspides de azul põem-lhe luas gémeas no rosto branco. Afasta o cabelo, suspira e agita-se.
Ele avança na minha direcção. Ah, Leech, diz enquanto caminha. Chama-me Leech. Ah, Leech, quero que me faça uma coisa. Uma coisa que eu não oiço, imobilizado, hipnotizado
onde estou sentado pela boca que a si mesma se molda à volta das sílabas. Uma coisa que quero que me faça. No momento em que, por acaso, despreocupado, se apercebe
do seu erro, Leech surge de trás de uma enfiada de armários, efusivamente perdoador. O director, esse, vivamente apologético. Como o meu colega confirmará, diz Leech,
as pessoas estão sempre a confundir-nos, e ao dizê-lo põe a mão no meu ombro, perdoando-me também. Um erro muito natural, colega, permitir que o confundam com Leech.
Oiço-a respirar, subida e descida, subida e descida, entre a subida e a descida o hiato arriscado, a decisão que toma de continuar... o peso das horas. Dir-lhe-ei
e evitarei confusões. Os seus olhos mover-se-ão da esquerda para a direita, e de novo para a esquerda, estudarão sucessivamente cada um dos meus olhos, compará-los-ão,
procurando sinceridade ou mudança de intenção, mergulharão intermitentemente para a minha boca, e à roda, e à roda, para encontrarem sentido num rosto, e como os
seus os meus no dela, à roda, e à roda, os nossos olhos dançarão e perseguirão.
Estou sentado, entalado entre os dois homens de pé, e o director repete as suas instruções, deixa-nos, impacientemente, e quando chega à porta vira-se para olhar
para trás e sorri com indulgência. Sim! Nunca o tinha visto sorrir. Vejo o que ele vê: gémeos, como numa pose para uma fotografia formal. Um de pé, com a mão para
sempre pousada no ombro do que está sentado; possivelmente, uma confusão, uma partida da lente, pois se girarmos este anel metálico brilhante as suas imagens aglutinam-se
e fica apenas um. Nome? Esperançoso e com bons motivos... ansioso.
Para cá e para lá, o meu relógio fará a Terra girar, a alvorada chegar, trará as filhas dela para a cama... para cá e para lá, ri-se do silêncio, para cá e para
lá, deixa cair as filhas dela entre o picante calor adulto, prende-as aos seus flancos como estrelas-do-mar, lembras-te... a emoção de vermos o que não estava previsto
que víssemos, a grande rocha alçada na areia molhada, apertada, a orla da água recuando contra sua vontade para o horizonte, e na rocha alçada as poças ávidas sorviam,
e derramavam, e sorviam. Um volumoso pedregulho preto projectado sobre uma poça, e ali estava ela, suspensa por baixo dele, a estender os braços e as pernas, tu
viste-a primeiro, tão cor-de-laranja, luminosa, bela, singular, os seus pontos brancos pingando. Agarrou-se à rocha preta que dominava, e como a água a empurrava
contra a sua rocha enquanto, muito ao longe, o mar recuava. A estrela-do-mar não ameaçava como os ossos por estar morta, ameaçava por estar tão desperta, como um
grito de criança no silêncio da noite.
O calor corporal que transmitem. Somos o mesmo? Leech, somos? Leech estende, responde, palmeia, empurra, finge, consulta, lisonjeia, curva-se, ausculta, posa, aproxima-se,
cumprimenta, toca, examina, indica, agarra, murmura, olha, treme, sacode, surge, sorri, levemente, tão levemente, diz, Abre o... o calor?... abre os olhos, abre
os olhos...
É verdade? Estou deitado no escuro... É verdade, penso que acabou. Ela dorme, não houve fim, a suspensão chegou despercebida como o próprio sono. Sim, o velho para
cá e para lá embalou-a até adormecer, e a dormir ela puxou-me para o seu lado e pôs a perna sobre a minha. O escuro torna-se azul e cinzento e eu sinto na têmpora,
por baixo do seio dela, o ritmo antigo do seu coração, para cá e para lá.
Psicópolis
Mary trabalhava numa livraria feminista, de que era parcialmente proprietária, em Venice. Conhecia-a lá à hora do almoço no meu segundo dia em Los Angeles. Nessa
mesma noite tornámo-nos amantes e, não muito tempo depois disso, amigos. Na sexta-feira seguinte acorrentei-a pelo pé à minha cama durante todo o fim-de-semana.
Era, explicou-me, uma coisa em que "tinha de entrar para dela sair". Lembro-me de me ter arrancado (mais tarde, num bar apinhado) a promessa solene de não lhe dar
ouvidos se exigisse ser libertada. Ansioso por agradar à minha nova amiga, comprei uma corrente fina e um cadeado minúsculo. Com parafusos de latão, aparafusei uma
argola de aço à base de madeira da cama, e ficou tudo preparado. Passadas horas, ela exigia a sua liberdade e, embora um pouco confuso, levantei-me da cama, tomei
duche, vesti-me, calcei os chinelos de feltro e levei-lhe uma grande frigideira, para urinar. Ela experimentou uma voz firme, sensata.
- Abre isto - disse. - Já me chega.
Admito que me assustou. Preparei uma bebida e saí apressadamente para a varanda, para ver o pôr do Sol. Não estava de modo algum excitado. "Se abro a corrente",
pensei, "ela despreza-me por ser tão fraco. Se a mantenho ali, é capaz de me odiar, mas pelo menos terei cumprido a minha promessa." O pálido Sol cor-de-laranja
mergulhou na névoa, e eu ouvi-a gritar-me através da porta fechada do quarto. Fechei os olhos e concentrei-me no esforço de ser irrepreensível.
Um amigo meu fez uma vez análise com um homem idoso, um freudiano com uma boa clientela em Nova Iorque. Em certa ocasião, o meu amigo falou demoradamente acerca
das suas dúvidas a respeito das teorias freudianas, da sua falta de credibilidade científica, da sua particularidade cultural, etc. Quando ele acabou, o analista
sorriu agradavelmente e respondeu:
- Olhe à sua volta!
E apontou, com a palma da mão aberta, o gabinete confortável, a planta da borracha, a begónia rex, as paredes forradas de livros e, finalmente, com um movimento
do pulso dirigido para si, num gesto que simultaneamente sugeria franqueza e realçava as lapelas do seu fato de bom gosto, perguntou:
- Pensa realmente que eu estaria como estou agora se Freud estivesse enganado?
Pela mesma ordem de ideias, disse a mim próprio, quando voltava para dentro (entretanto, o Sol pusera-se e o quarto estava silencioso), a verdade genuína da questão
é que estou a cumprir a minha promessa.
Não obstante, sentia-me aborrecido. Vagueei de sala para sala, acendendo as luzes, encostando-me às ombreiras das portas e olhando para objectos que me eram já familiares.
Armei a estante de música e tirei a flauta do estojo. Há anos, aprendi a tocar sozinho, e cometo muitos erros, fortalecidos pelo hábito, que já não tenho vontade
de corrigir. Não carrego nas chaves como deveria, exactamente com as pontas dos meus dedos, e estes levantam-se demasiado sobre as chaves e assim tornam impossível
tocar passagens rápidas com alguma facilidade. Além disso, o meu pulso direito não relaxa e não forma, como deveria, um ângulo recto natural com o instrumento. Não
mantenho as costas erectas quando toco; pelo contrário, inclino-me para a música. A minha respiração não é controlada pelos músculos do estômago. Sopro descuidadamente
do topo da minha garganta. A embocadura está mal formada e eu dependo com excessiva frequência de um vibrato xaroposo. Não possuo o domínio necessário para tocar
qualquer dinâmica que não seja o suave ou o ruidoso. Nunca me dei ao trabalho de aprender notas acima do sol maior. A minha aptidão musical é fraca, e bastam ritmos
ligeiramente fora do vulgar para me deixar perplexo. Sobretudo, não tenho nenhuma ambição de tocar alguma coisa além da mesma meia dúzia de peças e cometo os mesmos
erros de todas as vezes que as toco.
Tocava havia vários minutos a minha primeira peça quando pensei que ela estava a ouvir no quarto e me veio à cabeça a frase "audiência cativa". Enquanto tocava,
pensei em maneiras de inserir estas palavras casualmente numa frase e obter um trocadilho ligeiro, divertido, cujo humor tivesse o dom de elucidar a situação. Larguei
a flauta e caminhei na direcção da porta do quarto. Mas, antes de ter a frase engatilhada, a minha mão, com uma espécie de automatização insensível, empurrara e
abrira a porta e eu estava parado diante de Mary. Ela encontrava-se sentada na beira da cama a escovar o cabelo, com a corrente decentemente oculta pelos cobertores.
Em Inglaterra, uma mulher tão despachada a falar como Mary poderia ter sido considerada uma agressora, mas na verdade tinha modos brandos. Era baixa e de constituição
pesada. O seu rosto suscitava uma impressão de vermelhos e pretos, lábios vermelho-escuros, olhos muito pretos, faces vermelho-maçã fosco e cabelo preto e lustroso
como alcatrão. A sua avó era índia.
- Que queres? - perguntou rispidamente e sem interromper o movimento da mão.
- Ah... Audiência cativa!
- O quê?
Como eu não me repetisse, disse-me que queria ficar só. Sentei-me na cama e pensei: "Se ela me pedir que a liberte, liberto-a imediatamente." Mas ela não pediu nada.
Quando acabou de escovar o cabelo deitou-se com as mãos cruzadas atrás da cabeça. Fiquei a observá-la, esperando. A ideia de lhe perguntar se queria ser libertada
parecia-me ridícula, e libertá-la simplesmente sem autorização sua era aterrador. Eu nem sequer sabia se estava perante uma questão ideológica se psicossexual. Voltei
para a minha flauta, mas desta vez levei a estante de música para o lado mais distante do apartamento e fui fechando as portas que ia encontrando pelo caminho. Desejava
que ela não me ouvisse.
No domingo à noite, após mais de vinte e quatro horas de silêncio ininterrupto entre nós, soltei Mary. Quando a lingueta do cadeado saltou, disse:
- Estou em Los Angeles há menos de uma semana e já me sinto uma pessoa completamente diferente.
Embora fosse parcialmente verdadeira, a minha observação destinava-se a proporcionar prazer. Com uma das mãos a descansar no meu ombro e a outra a massajar o pé,
Mary disse:
- É natural que cause isso. É uma cidade no fim das cidades.
- Tem quase cem quilómetros de largura! - concordei.
- Tem mais de mil e quinhentos quilómetros de comprimento! - exclamou Mary loucamente e passou os braços morenos à roda do meu pescoço. Parecia ter encontrado o
que desejara.
Mas não estava inclinada para dar explicações. Mais tarde comemos num restaurante mexicano e eu esperei que ela falasse do seu fim-de-semana acorrentada e quando,
por fim, comecei a interrogá-la, interrompeu-me com uma pergunta sua:
- É realmente verdade que a Inglaterra se encontra num estado de colapso total?
Respondi que sim e falei com pormenor, sem acreditar no que dizia. A única experiência que tinha de colapso total era a de um amigo que se matara. Ao princípio,
ele só quis punir-se. Comeu uma pequena quantidade de vidro moído, misturado com sumo de toranja. Depois, quando as dores começaram, correu para a estação do metropolitano,
comprou o bilhete mais barato e atirou-se para debaixo de um comboio. Na linha novinha em folha de Victoria. Que seria uma coisa dessas à escala nacional? Saímos
do restaurante e caminhámos de braço dado, sem falar. O ar estava quente e húmido à nossa volta, e nós beijámo-nos e abraçámo-nos no passeio, ao lado do carro dela.
- O mesmo na próxima sexta-feira? - perguntei cinicamente quando ela entrou no carro, mas as palavras foram abafadas pelo bater da porta. Acenou-me com os dedos,
pela janela, e sorriu. Não a vi durante muito tempo.
Encontrava-me em Santa Mónica, num grande apartamento emprestado situado sobre uma agência de alugueres especializada em material para quem oferecia festas e, singularmente,
equipamento para "quartos de doentes". Um lado do estabelecimento estava dedicado a copos de vinho, shakers de cocktails, poltronas, uma mesa de banquete e uma discoteca
portátil; o outro a cadeiras de rodas, camas articuladas, pinças e arrastadeiras, aço tubular reluzente e tubos de borracha coloridos. Durante a minha permanência
reparei em diversos estabelecimentos similares espalhados pela cidade. O gerente vestia imaculadamente e ao princípio a sua cordialidade intimidou-me. No nosso primeiro
encontro, disse-me que tinha "apenas vinte e nove anos". Era pesado de constituição e usava um daqueles bigodes descaídos e bastos deixados crescer na América e
na Inglaterra pelos jovens ambiciosos. No meu primeiro dia no apartamento, subiu a escada, apresentou-se como George Malone e fez-me um cumprimento simpático:
- Os Ingleses - disse - fazem excelentes cadeiras de rodas. Não há melhores.
- Devem ser Rolls-Royce - disse eu, e ele agarrou-me o braço.
- Está a gozar comigo? A Rolls-Royce faz...
- Não, não - interrompi-o, nervosamente. - Foi uma... uma brincadeira.
Durante um momento o seu rosto ficou imobilizado, a boca aberta e preta, e eu pensei: o tipo vai bater-me. Mas ele riu-se.
- Rolls-Royce! Essa é gira!
Quando voltei a vê-lo apontou para o lado do quarto de doentes do seu estabelecimento e perguntou, quando eu passava:
- Quer comprar uma Rolls?
Uma vez por outra, bebíamos juntos à hora do almoço, num bar iluminado de vermelho à saída da Colorado Avenue, onde George me apresentara como "um especialista em
comentários esquisitos".
- Que vai ser? - perguntou o barman.
- Unto de porco com uma cereja - respondi, esperando cordialmente estar à altura da minha reputação.
Mas o homem ficou carrancudo e, voltando-se para George, repetiu por entre um suspiro:
- Que vai ser?
Foi divertido, pelo menos ao princípio, viver numa cidade de narcisistas. No meu segundo ou terceiro dia segui as instruções de George e dirigi-me a pé para a praia.
Era meio-dia. Um milhão de estatuetas rígidas, primitivas, jaziam espalhadas pela areia amarela, fina, até serem engolidas, a norte e a sul, por uma neblina de calor
e poluição.
Nada se mexia, além das ondas gigantes, lentas, ao longe, e o silêncio era pavoroso. Perto de onde me encontrava parado, mesmo na orla da praia, havia espécies diferentes
de barras paralelas, vazias e nuas, com a sua tosca geometria marcada pelo silêncio. Nem sequer o som das ondas chegava até mim, não se ouviam vozes nenhumas, a
cidade inteira estava deitada, a sonhar. Quando comecei a caminhar 11a direcção do oceano ouvi murmúrios perto, e foi como se estivesse a ouvir uma pessoa que falava
a dormir. Vi um homem mexer a mão, abri-la mais firmemente contra a areia para apanhar o sol. Uma mala-gcladeira sem tampa erguia-se como uma lápide tumular junto
da cabeça de uma mulher prostrada. Espreitei-lhe para dentro ao passar e vi latas de cerveja vazias e uma embalagem de queijo cor-de-laranja a flutuar em água.
Agora que me movimentava pelo meio deles, reparei quanto os solitários banhistas solares estavam afastados uns dos outros. Tive a sensação de que eram precisos minutos
para caminhar de um para outro. Uma ilusão de perspectiva fizera-me pensar que estavam apinhados, apertados uns contra os outros. Reparei também como as mulheres
eram bonitas, com os seus membros bronzeados estendidos a lembrar estrelas-do-mar; e como eram muitos os homens idosos saudáveis, com nodosos corpos musculosos.
O espectáculo daquele intento comum divertiu-me e pela primeira vez na vida desejei também, avidamente, ser bronzeado de corpo e rosto, para que quando sorrisse
os meus dentes cintilassem de brancura. Despi as calças e a camisa, estendi a toalha e deitei-me de costas, a pensar: serei livre, mudarei ao ponto de ficar absolutamente
irreconhecível. Mas passados minutos estava cncalorado e desassossegado, ansiava por abrir os olhos. Corri para o oceano e nadei até onde algumas pessoas andavam
na água e esperavam que uma onda particularmente grande as arrastasse para a praia.
Um dia, ao regressar da praia, encontrei preso à porta com uma tacha um bilhete do meu amigo Terence Latterly. Espero por ti, dizia, no Doggie Diner, do outro lado
da rua.
Conhecera Latterly anos antes, em Inglaterra, quando ele fazia investigação para uma tese, ainda não concluída, sobre George Orwell, e foi só quando vim para a América
que percebi como ele era diferente dos outros americanos. Delgado, extraordinariamente pálido, cabelo preto fino e encaracolado, olhos de gazela como os de uma princesa
do Renascimento, nariz comprido e recto com estreitas fendas pretas no lugar das narinas, Terence era doentiamente belo. Era abordado com frequência por homossexuais,
e uma vez, em Polk Street, São Francisco, foi literalmente agredido. Tinha uma gaguez suficientemente ligeira para ser enternecedora para quem se enternece com tais
coisas, e era intenso nas amizades, ao ponto de, de vez em quando, mergulhar em amuos impenetráveis por causa delas.
Levei algum tempo a admitir para comigo próprio que na realidade antipatizava com Terence, mas nessa altura ele já fazia parte da minha vida e eu aceitei o facto.
Como rodos os monologadores compulsivos, carecia de curiosidade a respeito das mentes das outras pessoas, mas as suas histórias eram boas e nunca contava a mesma
duas vezes. Entusiasmava-se regularmente por mulheres que afastava com a sua inépcia labiríntica e o seu fervor destrutivo, o que fornecia material novo para os
seus monólogos. Por duas ou três vezes, raparigas sossegadas, solitárias, protectoras, apaixonaram-se perdidamente por Terence e pelos seus modos, mas, significativamente,
ele não estava interessado. Terence gostava de mulheres de pernas compridas, realistas e independentes, que depressa se aborreciam dele. Uma vez disse-me que se
masturbava todos os dias.
Era o único cliente do Doggie Diner e estava melancolicamente inclinado para uma chávena de café vazia, com o queixo apoiado nas palmas das mãos.
- Em Inglaterra - disse-lhe eu -, um jantar de cão4 significa qualquer porcaria intragável.
- Nesse caso, senta-te - respondeu Terence. - Estamos no lugar certo. Fui muito humilhado.
- Sylvie? - perguntei, prestável.
- Sim, sim. Grotescamente humilhado.
Não era novidade nenhuma. Terence alimentava-se com frequência de relatos mórbidos de ofensas que recebia de mulheres indiferentes. Havia meses que estava apaixonado
por Sylvie, atrás de quem viera de São Francisco, onde primeiro me falara dela. Sylvie ganhava a vida a instalar restaurantes de comida saudável e a vendê-los depois,
e, tanto quanto eu sabia, não tinha praticamente consciência da existência de Terence.
- Eu nunca devia ter vindo para Los Angeles - dizia Terence, enquanto a empregada de mesa do Doggie Diner lhe enchia de novo a chávena. - É bom para os britânicos.
Vocês vêem tudo aqui como uma esquisita comédia de excessos, mas isso é porque estão de fora. A verdade é que a cidade é psicótica, totalmente psicótica.
Terence passou os dedos pelo cabelo, que parecia lacado e rígido, e olhou fixamente para a rua. Envolvidos numa constante e ténue nuvem azul, passavam automóveis
a trinta quilómetros por hora, com os antebraços bronzeados dos seus condutores no rebordo das janelas, os auto-rádios e os estéreos ligados, todos a caminho de
casa ou para bares, a fim de passarem uma hora feliz.
Decorrido um silêncio adequado, disse:
- Bem...?
Desde o dia da sua chegada a Los Angeles que Terence suplicava a Sylvie, pelo telefone, que comesse uma refeição com ele num restaurante, e finalmente, cansada,
ela consentiu. Terence compra uma camisa nova, vai ao cabeleireiro e passa uma hora, ao fim da tarde, diante do espelho, fitando o rosto. Encontra-se com Sylvie
num bar, bebem bourbon. Ela mostra-se descontraída e cordial, e ambos conversam com naturalidade de política californiana, a respeito da qual Terence não sabe praticamente
nada. Como conhece Los Angeles, Sylvie escolhe o restaurante. Quando saem do bar, ela pergunta:
- Vamos no teu carro ou no meu?
Terence, que não tem carro e não sabe guiar, responde:
- Porque não no teu?
No fim dos hors d'oeuvres, estão a começar a sua segunda garrafa de vinho e a falar de livros, e depois de dinheiro, depois novamente de livros. A encantadora Sylvie
conduz Terence pela mão ao longo de meia dúzia de tópicos; ela sorri e Terence cora de amor e das mais loucas ambições amorosas. Ama tão fortemente que sabe que
não será capaz de resistir a declarar-se. Sente que está por pouco, que se aproxima uma confissão louca.
As palavras saem-lhe da boca em catadupa, uma declaração de amor digna das páginas de Walter Scott, cuja substância principal é que não existe nada, absolutamente
nada no mundo que Terence não faça por Sylvie. Embriagado, vai ao ponto de a desafiar a pôr à prova a sua devoção. Tocada pelo bourbon e pelo vinho, intrigada com
aquele lânguido lunático fin de siècle, Sylvie olha-o ternamente por cima da mesa e retribui a pequena pressão da sua mão. No ar rarefeito que os envolve há uma
carga de boa vontade e temeridade despreocupada. Impulsionado pelo mero silêncio, Terence repete-se. Não há nada, absolutamente nada no, etc. O olhar de Sylvie desvia-se
por momentos do rosto de Terence para a porta do restaurante, no qual um casal abastado, de meia-idade, está agora a entrar. Franze a testa, depois sorri.
- Tudo? - pergunta.
- Sim, sim, tudo.
Terence mostra-se solene, adivinhando o genuíno desafio contido na pergunta dela. Sylvie inclina-se para a frente e agarra-lhe no antebraço.
- Não volta com a palavra atrás?
- Não, se for humanamente possível, farei o que disseres.
Sylvie olha de novo para o casal que espera, à porta, que empregada, uma senhora dinâmica, com um uniforme vermelho que lembre o de um soldado, lhes arranje mesa.
Terence observa, também. Sylvie aperta-lhe o braço com mais força.
- Quero que urine nas calças, já. Anda, já. Depressa! Antes que tenhas tempo de pensar no assunto.
Terence tem vontade de protestar, mas as suas próprias promessas ainda pairam no ar, numa nuvem acusadora. Com um controlo de bêbedo, e com o som de uma campainha
eléctrica a vibrar-lhe nos ouvidos, urina copiosamente, ensopando as coxas, as pernas e o rabo e fazendo correr para o chão um fio de urina.
- Fizeste o que te disse? - pergunta Sylvie.
- Fiz - responde Terence. - Mas porque...?
Sylvie ergue-se do lugar e acena delicadamente, para o outro lado do restaurante, ao casal parado à porta.
- Quero apresentar-te os meus pais - responde. - Acabo de vê-los entrar.
Terence permanece sentado durante as apresentações. Pergunta-se se cheirará. Não há nada que não seja capaz de fazer para dissuadir o casal afável, cujo cabelo começa
a ficar grisalho, de se sentar à mesa da filha. Fala desesperadamente e sem uma pausa ("como se fosse alguma espécie de chato"), referindo-se a Los Angeles como
um "buraco de merda" e aos seus habitantes como "sôfregos devoradores da privacidade uns dos outros".
Terence alude a uma recente doença mental prolongada da qual ainda mal se refez e diz à mãe de Sylvie que todos os médicos, e especialmente as médicas, são um lixo,
uma merda. Sylvie não diz nada. O pai arqueia uma sobrancelha para a mulher e o
Terence parecia ter-se esquecido de que estava a contar a sua história. Limpava as unhas com o dente de um pente.
- Então, não podes parar aí - disse-lhe eu. - Que aconteceu?Qual é a explicação de tudo isso?
À nossa volta a sala enchia-se, mas mais ninguém estava a falar.
- Sentei-me num jornal para não molhar o banco do carro dela - respondeu Terence. - Não falámos muito e ela não quis entrar quando chegámos a minha casa. Tinha-me
dito antes que não gostava muito dos pais. Suponho que esteve apenas a gozar-me.
Não percebi se a história de Terence era inventada se sonhada, pois tratava-se do paradigma de todas as rejeições que sofria, era a formulação perfeita dos seus
receios, ou talvez dos seus desejos mais profundos.
- As pessoas, aqui - disse ele quando saímos do Doggie Diner -, vivem muito longe uma das outras. O nosso vizinho é alguém que vive a quarenta minutos de distância
de automóvel, e quando finalmente nos encontramos estamos com ela fisgada para nos destruirmos mutuamente, tal a fúria que sentimos por termos estado sozinhos.
Havia na observação qualquer coisa que me atraía. Convidei-o a ir a minha casa fumar um charro comigo. Parámos uns minutos no passeio enquanto ele tentava decidir
se queria ou não queria. Olhámos para o outro lado da rua, através do trânsito, para a loja onde George mostrava o equipamento de discoteca a uma mulher negra. Por
fim, Terence abanou a cabeça e disse que, já que se encontrava nesta zona da cidade, ia visitar uma rapariga que conhecia em Venice.
- Leva uma muda de roupa interior - aconselhei.
- Está bem - respondeu por cima do ombro, enquanto se afastava. - Até à vista!
Houve dias longos, sem sentido, em que eu pensava: são todos o mesmo, em toda aparte. Los Angeles, Califórnia, os Estados Unidos inteiros pareciam-me uma crosta
muito fina e frágil no mundo subterrâneo e ilimitado do meu tédio. Era como se estivesse em qualquer outro lado; podia ter poupado o esforço e o preço da viagem.
Desejaria, na verdade, não estar em lado nenhum, estar além da responsabilidade do lugar. De manhã acordava embrutecido por excesso de sono. Embora não tivesse nem
fome nem sede, tomava o pequeno-almoço porque não ousava prescindir dessa actividade. Passava dez minutos a limpar os dentes, sabendo que quando acabasse teria de
arranjar outra coisa qualquer para fazer. Voltava à cozinha, fazia mais café e, muito cuidadosamente, lavava a louça. A cafeína contribuía para o meu pânico crescente.
Havia livros na sala que precisavam de ser estudados, havia coisas que precisavam de ser acabadas, mas pensar nisso deixava-me esbraseado de fadiga e desagrado.
Por esse motivo, tentava não pensar nessas coisas, não me tentar. Quase nunca me passava pela cabeça pôr os pés na sala de estar. Em vez disso, ia para o quarto
e fazia a cama, tendo muito cuidado com a perfeição das dobras dos lençóis aos cantos, para ficarem como as dos hospitais. Estava doente? Deitava-me na cama e olhava
para o tecto, sem um pensamento na cabeça. Depois levantava-me e, com as mãos nas algibeiras, olhava para a parede. Talvez devesse pintá-la de outra cor, mas, claro,
eu era apenas um residente temporário. Lembrava-me de que estava numa cidade estrangeira e ia apressadamente para a varanda. Lojas e casas melancólicas, brancas,
do formato de caixotes, carros estacionados, dois aspersores de relvados, grinaldas de fios telefónicos por toda a parte, uma palmeira oscilante recortada no céu,
tudo iluminado pelo fulgor branco e cruel de um Sol encoberto por nuvens altas e poluição. Era tão óbvio e manifesto para mim como uma fileira de vivendas suburbanas
inglesas. Que podia eu fazer? Ir para outro lado qualquer? Este pensamento quase me fazia desatar às gargalhadas.
Mais para confirmar o meu estado de espírito do que para o modificar, voltei ao quarto e, soturnamente, peguei na flauta. A peça que tencionava tocar, com os cantos
dobrados e suja de nódoas, já se encontrava na estante: Sonata n.º1, de Bach, em lá menor. O encantador andante inicial, uma série de arpeggios cadenciados, exige
uma técnica de respiração impecável para o fraseado ter sentido, mas eu começo logo no princípio a surripiar fôlegos furtivamente, como um larápio de supermercado,
e a coerência da peça torna-se puramente imaginária, recordada de discos tocados e sobreposta no presente. No compasso quinze, quatro compassos e meio presto adentro,
tropeço nos obstáculos das oitavas, mas persisto, atleta obstinado e deficiente, para acabar o primeiro movimento ofegante e incapaz de aguentar a última nota em
toda a sua extensão. Como apreendo a maior parte das notas certas pela ordem certa, considero o allegro o meu pano de amostra. Toco-o com agressividade inexpressiva.
O adagio, uma melodia doce e pensativa, demonstra-me de todas as vezes que toco como as minhas notas estão desafinadas, umas agudas, outras baixas, nenhumas suaves,
e as fusas sempre fora de tempo. E prossegui assim até aos dois minuetes do fim, que toco com uma persistência rígida, seca, como um órgão mecânico accionado por
um macaco. Era assim que eu executava a Sonata de Bach, inalterável nos seus pormenores desde que me lembro.
Sentei-me na beira da cama e levantei-me de novo quase imediatamente. Fui à janela olhar mais uma vez para a cidade estrangeira. Num dos relvados, uma rapariga pequena
pegou noutra ainda mais pequena e deu alguns passos cambaleantes com ela. Mais futilidade. Meti-me para dentro e olhei para o relógio-despertador do quarto. Onze
e quarenta. Faz qualquer coisa, depressa! Parei junto do relógio, a ouvir o seu tiqueta-que. Andei de divisão em divisão sem realmente ter essa intenção, surpreendendo-me
algumas vezes ao descobrir que estou de novo na cozinha a mexer no cabo de plástico estalado do abre-latas de parede. Entrei na sala e passei vinte minutos a tamborilar
com os dedos na lombada de um livro. Cerca do meio da tarde telefonei para o serviço horário e acertei o relógio. Sentei-me durante muito tempo na sanita e decidi
não me levantar de lá enquanto não tivesse planeado o que faria a seguir. Fiquei de plantão mais de duas horas a olhar para os joelhos, até eles perderem o seu significado
como partes de membros. Pensei em cortar as unhas, o que seria um princípio. Mas não tinha tesoura! Recomecei a vaguear de divisão em divisão, e depois, a meio do
anoitecer, adormeci numa poltrona, exausto comigo próprio.
George, ao menos, parecia apreciar a minha música. Uma vez subiu, ao ouvir-me da loja, e quis que lhe mostrasse a minha flauta. Disse-me que nunca tinha realmente
tido uma nas mãos. Maravilhou-se com a complexidade e a precisão das suas chaves e orifícios. Pediu-me que tocasse algumas notas para ele ver como se segurava, e
depois quis que lhe mostrasse como ele próprio poderia fazer uma nota. Olhou para a música na estante e disse que achava "brilhante" a maneira como os músicos conseguiam
transformar uma tal complicação de linhas e pontos em sons. A maneira como os compositores conseguiam imaginar sinfonias inteiras com dúzias de instrumentos diferentes
a tocar ao mesmo tempo ultrapassava-o por completo. Declarei que também me ultrapassava.
- A música - disse George com um gesto largo do braço - é uma arte sagrada.
Geralmente, quando não estou a tocar, deixo a flauta em qualquer lado, a apanhar pó, montada e pronta para tocar. Mas neste momento dei comigo a desmontá-la nas
suas três secções e a secá-las cuidadosamente e a deitar cada secção, como uma boneca favorita, no estojo forrado de feltro.
George morava em Simi Valley, numa área de deserto recentemente recuperada.Descrevia a sua casa como "vazia e ainda a cheirar a tinta fresca". Estava separado da
mulher, e os filhos, dois rapazes de sete e oito anos, iam passar dois fins-de-semana por mês com ele.
Imperceptivelmente, George foi-se tornando o meu anfitrião em Los Angeles. Chegara ali sem dinheiro, vindo da cidade de Nova Iorque, quando tinha vinte e dois anos.
Agora ganhava quase quarenta mil dólares por ano e sentia-se responsável pela cidade e pela minha experiência nela. As vezes, depois do trabalho, levava-me no seu
Volvo novo, quilómetros e quilómetros pela via rápida.
- Quero que a sintas, que sintas a insanidade do seu tamanho.
- Que edifício é aquele? - perguntava-lhe eu ao passarmos velozmente por um colosso iluminado, estilo III Reich, montado numa colina verde manicurada. George olhava
pela sua janela.
- Não sei, é um banco, um templo, ou qualquer outra coisa.
Fomos a bares de starlets, a bares de "intelectuais", onde bebiam argumentistas de cinema, a bares de lésbicas e a um bar onde os criados de mesa, homens novos,
pequenos, de rosto liso, se vestiam como criadas de servir vitorianas. Comemos num pequeno restaurante fundado em 1947 que servia somente hamburgers e tarte de maçã,
um estabelecimento famoso e em voga onde os clientes que esperavam ficavam de pé como fantasmas famintos atrás das costas dos que estavam sentados.
Fomos a um clube onde cantores e actores principiantes se apresentavam na esperança de serem descobertos. Uma rapariga magra, de cabelo ruivo luminoso e T-shirt
enfeitada de lantejoulas, chegou ao fim da sua canção apaixonadamente murmurada com uma nota inesperadamente aguda, impossível de suportar. Todas as conversas cessaram.
Alguém, talvez por maldade, deixou cair um copo. A meio, a nota transformou-se num vibrato gorjeado e a cantora dobrou-se no palco numa vénia abjecta, braços rigidamente
estendidos à sua frente, punhos cerrados. Depois, num ressalto, ficou em bicos de pés e ergueu os braços bem alto acima da cabeça, de palmas abertas, como que para
evitar os aplausos esporádicos e indiferentes.
- Querem todas ser Barbra Streisand ou Lizza Minnelli - explicou George, enquanto sorvia um cocktail gigante por uma palhinha de plástico cor-de-rosa. - Mas já ninguém
procura esse género de material.
Um homem de ombros descaídos e cabelo encaracolado rebelde surgiu, a arrastar os pés, no palco. Tirou o microfone do descanso, aproximou-o dos lábios e não disse
nada. Parecia estar entupido, no tocante a palavras. Usava, sobre a pele nua, um casaco de ganga rasgado e enlameado, tinha os olhos tão inchados que quase os não
abria e, debaixo do olho direito, um arranhão comprido descia até ao canto da boca e dava-lhe o aspecto de um palhaço parcialmente caracterizado. O seu lábio inferior
tremia e eu pensei que ele ia chorar. A mão que não segurava o microfone dava voltas e reviravoltas a uma moeda na algibeira, e, ao olhar para isso, reparei nas
nódoas que lhe desciam pelos jeatts, sim, manchas de vómito fresco, molhado. Os seus lábios entreabriram-se, mas não saiu nenhum som. A assistência aguardava pacientemente.
Algures, ao fundo da sala, alguém abriu uma garrafa de vinho. Quando por fim falou foi para as unhas e num murmúrio baixo trémulo.
- Estou uma verdadeira desgraça!
A assistência desatou a rir e a gritar, manifestações que passado um minuto foram substituídas pelo bater de pés e por palmas ritmadas. George e eu, talvez constrangidos
pela companhia mútua, sorrimos. O homem reapareceu ao microfone assim que as últimas palmas se desvaneceram. Desta vez falou rapidamente, sempre de olhos fixos nas
unhas. De quando em quando olhava de relance, com um ar preocupado, para a parte de trás da sala e nós vimos-lhe fugazmente o brilho do branco dos olhos. Disse-nos
que acabara de romper com a namorada e que, quando regressava de casa dela, começara a chorar, e chorara tanto que deixara de ver para conduzir e tivera de parar
o carro. Pensara que talvez se matasse, mas primeiro queria dizer-lhe adeus. Pegara de novo no volante e conduzira até uma cabina telefónica, mas o telefone estava
avariado e isso fizera-o chorar outra vez. Neste ponto, a assistência, até então silenciosa, riu um pouco. Ele tinha conseguido ligar de um drugstore para a namorada.
Assim que ela levantara o auscultador e ouvira a voz dele começar também a chorar. Mas não o quisera ver. "E inútil, não há nada que possamos fazer" dissera-lhe.
Ele desligara e uivara de desgosto. Um empregado do drugstore mandara-o sair, pois estava a perturbar os outros clientes. Caminhara pela rua fora a pensar na vida
e na morte, começara a chover, ele engolira umas pastilhas de nitrato de amilo, tentara vender o relógio. A assistência estava a ficar desassossegada, diversas pessoas
tinham deixado de o escutar. Pedira cinquenta cêntimos emprestados a um vadio. Através das lágrimas, julgara ver uma mulher a abortar um feto na valeta, mas quando
se aproximara vira que se tratava de caixas de cartão e de uma quantidade de trapos velhos. Nesta altura o indivíduo já falava no meio de uma zoada contínua de conversas.
As criadas, com bandejas de prata, circulavam por entre as mesas.
De súbito, o tipo levantou a mão e disse:
- Até à próxima! - e desapareceu.
Algumas pessoas bateram palmas, mas a maioria não deu pela saída dele.
Não muito tempo antes de eu ter de partir de Los Angeles, George convidou-me a passar o serão de sábado em sua casa. Eu ia apanhar o avião para Nova Iorque no fim
do dia seguinte. Ele queria que levasse comigo dois amigos, para fazermos uma festa de despedida, c queria que levasse também a minha flauta.
- Tenho realmente vontade - disse George - de me sentar na minha própria casa, com um copo de vinho na mão, a ouvir-te tocar essa coisa.
Telefonei primeiro a Mary. Desde o tal fim-de-semana que nos encontrávamos intermitentemente. De vez em quando aparecia e passava a tarde no meu apartamento. Tinha
outro amante com quem mais ou menos vivia, mas quase nunca o mencionava e isso nunca constituiu problema entre nós. Depois de dizer que iria, Mary quis saber se
Terence estaria presente. Eu contara-lhe a aventura de Terence com Sylvie e descrevera-lhe os meus próprios sentimentos ambivalentes a respeito dele. Terence não
tinha voltado, como tencionara, para São Francisco. Conhecera alguém que tinha um amigo ligado ao negócio de escrever argumentos e agora estava à espera de uma apresentação.
Quando lhe telefonei respondeu com uma paródia inconvincente de impertinência semítica:
- Há cinco semanas nesta cidade e já sou convidado.
Resolvi tomar a sério o desejo de George de me ouvir tocar flauta. Ensaiei as minhas escalas e os meus arpeggios, trabalhei com afinco nas passagens da Sonata n.º
1 em que titubeava e enquanto tocava entreguei-me à fantasia de que Mary, George e Terence escutariam fascinados e um pouco embriagados, e o meu coração galopava.
Mary chegou ao princípio da noite e, antes de nos metermos no carro para irmos buscar Terence, sentámo-nos na minha varanda e fumámos um charrozito. Passara-me pela
cabeça, antes de ela chegar, que talvez fôssemos para a cama uma última vez. Mas agora que ela ali estava e nos encontrávamos vestidos para um serão noutro lugar
pareceu-me mais apropriado conversarmos. Mary perguntou-me o que tinha andado a fazer e eu contei-lhe o número do clube nocturno. Não sabia se devia apresentar o
indivíduo como um executante com um número tão inteligente que não era divertido, se como alguém que viera da rua e subira ao palco.
- Tenho visto números desses aqui - disse Mary. - A ideia, quando resulta, é fazer o nosso riso ficar preso na garganta. O que era divertido torna-se subitamente
desagradável.
Perguntei-lhe se pensava que havia alguma verdade na história do homem. Ela abanou a cabeça.
- Aqui, toda a gente - respondeu, fazendo um gesto em direcção ao Poente - tem em cena um número qualquer desse género.
- Pareces dizer isso com algum orgulho - observei enquanto nos levantávamos. Ela sorriu e demos as mãos durante um momento vazio, no qual me acudiu ao espírito,
vinda sei lá de onde, a imagem vívida das barras paralelas na praia; depois voltámo-nos e entrámos em casa.
Terence esperava-nos no passeio, em frente da casa onde estava instalado. Vestia um fato branco e, quando parámos, punha na lapela um cravo cor-de-rosa. O carro
de Mary tinha apenas duas portas. Eu tive de sair para deixar Terence entrar, mas, devido a uma combinação de manobra astuciosa da parte dele e cortesia obtusa da
minha, dei comigo a apresentar os meus dois amigos do banco de trás. Quando virámos para a via rápida, Terence começou a fazer a Mary uma série de perguntas corteses
e insistentes e, do lugar onde me encontrava, directamente atrás de Mary, tornou-se claro que, quando ela estava a responder a uma pergunta, já ele estava a formular
a seguinte, ou a fazer tudo quanto estava ao seu alcance para concordar com todas as coisas que ela dizia.
- Sim, sim - dizia, ansiosamente inclinado para a frente, a apertar uns nos outros os compridos e pálidos dedos. - Essa maneira de pôr a questão é realmente interessante.
Tanta condescendência, pensei, um esforço tão grande para lhe agradar. Porque lho consentes, Mary? Ela disse que pensava que Los Angeles era a cidade mais emocionante
dos EUA. Antes de ter sequer acabado já Terence estava a ultrapassá-la com elogios extravagantes.
- Pensava que a odiavas - observei, ácido.
Mas Terence estava a ajustar o cinto de segurança e a fazer outra pergunta a Mary. Recostei-me no meu lugar e olhei pela janela tentando dominar a irritação. Pouco
depois, Mary torcia o pescoço, a tentar encontrar-me no retrovisor.
- Vais muito calado aí atrás - disse, alegremente.
Lancei-me imediatamente num arremedo inesperado e furioso.
- Essa maneira de pôr a questão é realmente interessante, sem dúvida, sem dúvida.
Nem Terence nem Mary deram qualquer resposta. As minhas palavras pairaram sobre nós como se estivessem ditas e reditas. Abri a janela. Chegámos a casa de Cíeorge
com vinte e cinco minutos de silêncio ininterrupto atrás de nós.
Terminadas as apresentações, ocupámos os três o centro da enorme sala de estar de George, enquanto ele preparava as nossas bebidas no bar. Eu trazia o estojo da
flauta c a estante de música debaixo do braço como se fossem armas. Tirando o bar, o único mobiliário eram duas poltronas de plástico amarelo, com os assentos muito
fundos, muito luminosas em contraste com a extensão de deserto da carpete castanha. As portas de correr ocupavam todo o comprimento de uma parede e davam para um
pequeno pátio de areia e pedras, no centro do qual, montada em cimento armado, se erguia uma daquelas engenhocas do feitio de árvores, para secar roupa. Ao canto
do pátio havia um tufo fragmentado de artemísia, sobrevivente do deserto genuíno que ali tinha existido um ano antes. Terence, Mary e eu dirigíamos observações a
George, mas não dizíamos nada uns aos outros.
- Bem - disse George, quando os quatro ficámos a olhar uns para os outros de copo na mão. - Venham comigo, que eu mostro-vos os miúdos.
Obedientemente, fomos atrás dele em fila indiana, ao longo de um corredor estreito e forrado por uma alcatifa espessa. Espreitámos pela porta de um quarto para dois
rapazinhos que liam histórias aos quadrinhos em camas de beliche. Eles olharam para nós sem interesse e depois continuaram a ler.
De novo na sala, disse a George:
- Eles são muito sossegados, George. Que lhes fazes? Bates-lhes?
George tomou a minha pergunta a sério e iniciou-se uma conversa acerca de castigos corporais. George disse que de vez em quando dava uma palmada no rabo dos rapazes
se as coisas se descontrolavam demasiado. Mas a intenção não era magoá-los, afirmou, era mais demonstrar-lhes que não estava a brincar. Mary declarou ser absolutamente
contra bater em crianças, e Terence, sobretudo para fazer figura, pensei, ou talvez para me demonstrar que era capaz de discordar de Mary, disse ser sua opinião
que uma boa sova nunca fez mal a ninguém. Mary riu-se, mas George, que obviamente não estava a simpatizar com aquele convidado lânguido e levemente janota estiraçado
no seu tapete, pareceu preparado para se lançar ao ataque. George trabalhava muito. Mantinha as costas direitas, mesmo sentado na poltrona de assento afundado.
- Apanhaste tareias quando eras criança? - perguntou-Ihe, enquanto passava o scotch.
Terence hesitou, antes de responder:
- Sim.
Isso surpreendeu-me. O pai de Terence morrera antes de ele nascer e ele crescera com a mãe no Vermont.
- A tua mãe batia-te? - perguntei, sem lhe dar tempo de inventar um pai implicante e brutamontes.
- Batia.
- E achas que isso não te fez nenhum mal? - perguntou George. - Não acredito.
Terence esticou as pernas.
- Absolutamente nenhum. - Falou através de um bocejo que podia ser fingido. Fez um gesto na direcção do cravo cor--de-rosa e acrescentou: - Afinal de contas, estou
aqui.
Seguiu-se uma pausa, e depois George perguntou:
- Por exemplo, nunca tiveste qualquer problema em entender-te com mulheres?
Não pude conter um sorriso.
Terence endireitou-se.
- Oh, sim - respondeu. - Aqui o nosso amigo inglês pode confirmar isso.
Ele referia-se à minha explosão no carro. Mas eu disse a George:
- Terence gosta de contar histórias engraçadas a respeito dos seus próprios desaires sexuais.
George inclinou-se para a frente, a fim de prender toda a atenção de Terence.
- Como podes ter a certeza de que eles não são uma consequência de teres sido sovado pela tua mãe?
Terence falou muito depressa. Fiquei sem saber ao certo se ele estava muito excitado, muito zangado:
- Haverá sempre problemas entre homens e mulheres, e toda a gente sofre, de uma maneira ou de outra. Eu oculto menos a respeito de mim do que as outras pessoas.
Supondo que a tua mãe nunca te deixou o rabo a arder quando eras miúdo, isso significará que nunca tiveste problemas com mulheres? Quero dizer, onde está a tua mulher?
A interrupção de Mary teve a precisão do bisturi de um cirurgião:
- Eu só apanhei uma vez, do meu pai, quando era miúda, e sabem porquê? Tinha doze anos. Estávamos todos sentados à mesa, à hora do jantar, toda a família, e eu disse
a todos que estava a sangrar por entre as pernas. Pus um pouco de sangue na ponta de um dedo e estendi-o, para eles verem. O meu pai inclinou-se por cima da mesa
e deu-me uma bofetada. Disse-me que não fosse porca e mandou-me para o quarto.
George levantou-se para ir buscar mais gelo para os nossos copos e, ao afastar-se, murmurou:
- Simplesmente grotesco.
Terence estendeu-se 110 chão, de olhos fixos no tecto como um morto. Do quarto veio o som dos garotos a cantar, ou melhor, a salmodiar, pois cantavam numa nota só.
Disse a Mary qualquer coisa no sentido de que, entre pessoas que acabavam de se conhecer, uma conversa semelhante não poderia ter existido em Inglaterra.
- Achas que isso é uma coisa boa? - perguntou-me ela.
- Entre não dizer nada e dizer tudo há muito pouco por onde escolher - respondi.
- Ouviram os rapazes? - indagou George, quando voltou.
- Ouvimos uma espécie de canto - disse Mary.
George estava a deitar-me mais scotch e a pôr gelo nos copos com uma colher.
- Não era canto nenhum. Estavam a rezar. Tenho andando a ensinar-lhes o Pai-Nosso.
Terence gemeu, no chão, e George virou-se bruscamente.
- Não sabia que eras cristão, George - observei.
- Bem, compreendes...
George afundou-se na cadeira. Houve uma pausa, como se todos estivéssemos a reunir as nossas forças para outro round de discordância fragmentária.
Mary estava agora na segunda cadeira, voltada para George. Terence estava deitado como um muro baixo entre eles, e eu estava sentado de pernas cruzadas a cerca de
um metro dos pés de Terence. Foi George que falou primeiro, dirigindo-se a Mary por cima de Terence:
- Nunca me interessei muito por ir à igreja, mas... - Deixou a frase em suspenso, um pouco embriagado, pensei. - Mas sempre desejei que os rapazes tivessem o máximo
de religião possível enquanto são jovens. Depois poderão rejeitá--la, acho eu. Mas, pelo menos por agora, têm um conjunto coerente de valores que são tão bons como
quaisquer outros, assim como toda uma série de histórias, histórias verdadeiramente boas, exóticas, histórias em que é possível acreditar.
Ninguém falou e por isso George continuou:
- Eles gostam da ideia de Deus. E do Céu e do Inferno, dos anjos e do Diabo. Falam muito de tudo isso, e eu nunca tenho a certeza do que significa ao certo para
eles. Creio que é um pouco como o Pai Natal. Acreditam e não acreditam. Gostam daquela história de rezar, apesar de pedirem as coisas mais loucas. Rezar, para eles,
é uma espécie de prolongamento das suas... das suas vidas interiores. Rezam a respeito do que querem e daquilo de que têm medo. Vão todas as semanas à igreja. É
praticamente a única coisa sobre a qual Jean e eu estamos de acordo.
George dirigiu todas estas palavras a Mary, que acenava com a cabeça enquanto ele falava e o olhava com solenidade. Terence fechara os olhos. Quando acabou de falar,
George olhou para cada um de nós sucessivamente, à espera que puséssemos em causa o que dissera. Mexemo-nos. Terence apoiou-se num cotovelo. Ninguém falou.
- Não vejo que possa prejudicá-los, um pouco de religião à antiga - reiterou George.
Mary falou para o chão:
- Bem, não sei. Há muitas coisas que se podem contestar no cristianismo. E como tu próprio não acreditas, realmente, podíamos falar disso.
- Óptimo - concordou George. - Vamos a isso.
Ao princípio, Mary falou com ponderação.
- Bem, para começar, a Bíblia é um livro escrito por homens, dirigido a homens e tendo como protagonista um Deus muito masculino, que até tem o aspecto de um homem,
porque fez o homem à sua própria imagem. Isso, a mim, parece-me muito suspeito, uma genuína fantasia masculina...
- Espera lá - interrompeu George.
- Depois - prosseguiu Mary -, as mulheres foram muito mal tratadas pelo cristianismo. Através do pecado original, têm sido consideradas responsáveis por tudo quanto
acontece no mundo desde o jardim do paraíso. As mulheres são fracas, impuras, condenadas a parirem filhos em dor, como castigo das fraquezas de Eva, são as tentadoras
que afastam o espírito dos homens de Deus... Como se as mulheres fossem mais responsáveis pelos sentimentos sexuais dos homens do que os próprios homens! Como Simone
de Beauvoir diz, as mulheres são sempre o "outro", a verdadeira questão é entre o homem no Céu e os homens na Terra. Efectivamente, as mulheres até só existem como
uma espécie de ideia divina posterior, que as criou a partir de uma costela para fazerem companhia aos homens e lhes passarem as camisas a ferro, e o maior favor
que podem fazer ao cristianismo é não se sujarem com o sexo, permanecerem castas, e se, ao mesmo tempo, conseguirem ter um bebé, então estão à altura do ideal de
feminilidade da igreja cristã: a Virgem Maria.
Agora Mary estava zangada, olhava furiosamente para George.
- Espera lá - dizia ele -, não pode atirar com toda essa treta estilo Women's Lib às sociedades de há milhares de anos. O cristianismo exprimiu-se através de...
Mais ou menos ao mesmo tempo, Terence disse:
- Outra contestação ao cristianismo é que conduz à aceitação passiva de desigualdades sociais porque as verdadeiras recompensas estão no...
E Marv interrompeu George, num protesto:
- O cristianismo proporcionou uma ideologia ao sexismo, agora, e o capitalismo...
- Tu és comunista? - perguntou George, furioso, embora eu não tivesse a certeza cie quem era o alvo da sua pergunta.
Terence persistia ruidosamente com o seu discurso. Ouvi-o mencionar as cruzadas e a inquisição.
- Isso não tem nada a ver com cristianismo.. - George quase gritava. Tinha o rosto corado.
- Mais mal perpetrado em nome de Cristo do que... isso não tem nada a ver com... até à perseguição das mulheres herbanárias como bruxas... Conversa de chacha. É
irrelevante... corrupção, suborno, apoiar tiranos, acumular riqueza nos altares... deusa da fertilidade... conversa da treta... adoração fálica... vejam Galileu...
isso não tem nada a ver com...
Pouco mais ouvi porque, entretanto, começara a gritar a minha própria opinião acerca do cristianismo. Era impossível ficar calado. George estava de dedo furiosamente
espetado em direcção a Terence. Mary inclinava-se para a frente, tentando agarrar na manga de George e dizer-lhe qualquer coisa. A garrafa de whisky estava caída
de lado, vazia. Alguém entornara o gelo. Pela primeira vez na vida, descobria-me possuidor de opiniões prementes sobre cristianismo, violência, América, sobre tudo,
e exigia prioridade, antes que os meus pensamentos fugissem.
- ... e começando a pensar objectivamente a este respeito... dos seus púlpitos para prejudicar os trabalhadores e as suas greves... objectiva? Quer dizer, masculina.
Toda a realidade agora é realidade masc... sempre um Deus violento... o grande capitalista do Céu... ideologia protectora da classe dominante nega o conflito entre
homens e mulheres... conversa da treta, conversa da treta absoluta...
De súbito ouvi outra voz soar-me aos ouvidos. Era a minha própria. Estava a falar num breve e exausto silêncio.
- ... viajando de carro através dos States vi um letreiro no Illinois, ao longo da Interstate 70, que dizia "Deus, Coragem, Armas fizeram a América grande. Conservemos
os três."
- Ah! - exclamaram, triunfantes, Mary e Terence.
George estava de pé, com o copo vazio na mão.
- Isso é verdade - gritou. - Isso é verdade. Podem desdenhar disso, mas é verdade. Este país tem um passado violento, muitos homens corajosos morreram a fazer...
- Homens! - repetiu Mary.
- Está bem, uma quantidade de mulheres corajosas também. A América foi feita pelas armas. Não podemos ignorar isso. - George atravessou a sala em direcção ao bar,
ao canto, e tirou uma coisa preta de detrás das garrafas. - Eu tenho uma arma aqui - disse, levantando a tal coisa preta para nós vermos.
- Para quê? - perguntou Mary.
- Quando temos filhos começamos a ter uma atitude muito diferente em relação à vida e à morte. Nunca tive uma arma em casa antes de os miúdos para cá virem. Agora
acho que dispararia sobre alguém que ameaçasse a sua existência.
- E uma arma a sério? - perguntei.
George voltou para junto de nós com a arma numa das mãos e uma nova garrafa de scotch na outra.
- Podes ter a certeza absoluta de que é uma arma a serio! - Era muito pequena, não ultrapassava a palma da mão aberta de George.
- Deixa-me ver - disse Terence.
- Está carregada - avisou George ao estender-lha.
A arma pareceu exercer um efeito apaziguador em todos nós. Na sua presença deixámos de gritar, começámos a falar serenamente. Enquanto Terence examinava a arma,
George enchia os nossos copos. Quando se sentou recordou-me a minha promessa de tocar flauta. Seguiu-se um silêncio pesado de um minuto ou dois, quebrado apenas
por George, para nos dizer que depois daquele copo devíamos jantar. Mary estava muito longe, a pensar. Girava lentamente o copo entre o polegar e o indicador. Inclinei-me
para trás, apoiando-me nos cotovelos, e comecei a reunir os fragmentos da conversa que acabávamos de ter. Tentava lembrar-me de como chegáramos àquele súbito silêncio.
Nisto, Terence soltou a patilha de segurança e apontou a arma à cabeça de George.
- Mãos ao ar, cristão - disse, estupidamente.
George não se mexeu.
- Não devias brincar com uma arma - disse, apenas.
Terence segurou a arma com mais firmeza. Claro que estava a brincar, mas, no entanto, do lugar onde me encontrava via que tinha o dedo dobrado no gatilho e começava
a premi-lo.
- Terence! - murmurou Mary, e tocou-lhe devagarinho nas costas com o pé.
Sem desviar os olhos de Terence, George sorveu um gole da sua bebida. Terence levantou a outra mão, para firmar a arma apontada ao meio do rosto de George.
- Morte aos possuidores de armas - disse, sem vestígios de humor.
Quis dizer, também, o nome dele, mas quase não me saiu nenhum som da garganta. Quando tentei de novo, disse, no meu pânico galopante, qualquer coisa absolutamente
irrelevante.
- Quem é?
Terence premiu o gatilho.
Deste ponto em diante a noite mergulhou na cortesia convencional, labiríntica, em que os Americanos, quando querem, levam a palma aos Ingleses. George fora o único
a ver Terence retirar as balas da arma, e isso uniu-nos, a Mary e a mim, num estado de choque moderado, mas prolongado. Comemos salada e carnes frias em pratos equilibrados
nos joelhos. George interrogou Terence acerca da sua tese sobre Orwell e das perspectivas de emprego no ensino. Terence interrogou George acerca do seu negócio de
aluguer de material para festas e objectos necessários para quartos de doentes. Mary foi interrogada acerca do seu trabalho na livraria feminista e respondeu com
brandura, tendo o cuidado de evitar qualquer afirmação que pudesse provocar discussão. Por fim, pediram-me que lhes falasse dos meus planos de viagem, o que fiz
com grande e enfadonha minúcia. Expliquei que ficaria uma semana em Amsterdão antes de regressar a Londres. Isso bastou para que Terence e George passassem vários
minutos a elogiar Amsterdão, embora fosse evidente que ambos tinham visto a cidade com olhos muito diferentes.
Depois, enquanto os outros bebiam café e bocejavam, toquei a minha flauta. Toquei a minha sonata de Bach, não pior do que de costume, talvez com um pouco mais de
confiança por estar bêbedo, mas a minha mente funcionava ao arrepio da música. Porque eu estava cansado daquela música e de mim próprio por tocá-la. A medida que
as notas se transferiam da página para as pontas dos meus dedos, pensava: "Ainda estou a tocar isto?" Continuava a ouvir o eco das nossas vozes alteradas, via a
arma negra na palma da mão aberta de George, o actor a reaparecer, vindo da escuridão, para pegar de novo no microfone, via-me a mim próprio, muitos meses atrás,
a partir de Búfalo para São Francisco num carro de aluguer, gritando de alegria, mais alto do que o rugido do vento, pelas janelas abertas: "Sou eu, estou aqui,
vou a caminho..." Onde estava a música para tudo isto? Porque não a procurava eu, sequer? Porque continuava a fazer o que não sabia fazer, a tocar música de outro
tempo e outra civilização, a sua certeza e perfeição, para mim um fingimento e uma mentira, tanto quanto em tempos tinham sido, ou poderiam ainda ser, uma verdade
para outros. Que deveria eu procurar? (Despachei o segundo movimento como um piano mecânico.) Qualquer coisa difícil e livre. Pensei nas histórias de Terence a respeito
de si próprio, na sua brincadeira com a arma, na experiência de Mary consigo própria, em mim próprio num momento vazio a tamborilar com os dedos na lombada de um
livro, na vasta e fragmentada cidade sem um centro, sem cidadãos, uma cidade que existia somente no pensamento, um nexo de mudança ou estagnação em vidas individuais.
Imagens e ideias desabavam ebriamente umas atrás das outras, dissonância batida compasso após compasso de harmonia contida e lógica inexorável. Durante o vibrato
de uma cadência, relanceei, por cima da pauta, os olhos para os meus amigos, estiraçados no chão. Depois, a sua imagem brilhou fugazmente para mim na pauta de música.
Era possível, era mesmo provável, que nós quatro não nos voltássemos a ver nunca mais uns aos outros, e, em contraste com uma transciência tão trivial, a minha música
era inane na sua racionalidade, desprezível na sua sobredeterminação. Deixá--la para outros, para profissionais capazes de evocarem os tempos passados da sua verdade.
Para mim não era nada, agora que eu sabia o que queria. Este escapismo polido... Palavras cruzadas com as respostas escritas, não, não podia entregar-me mais a ele.
Parei no movimento lento e levantei a cabeça. Estava prestes a dizer: "Não posso continuar", mas os três tinham-se levantado e batiam palmas e sorriam-me francamente.
Numa paródia aos frequentadores de concertos, George e Terence levaram as mãos em concha à boca e exclamaram:
- Bravo! Bravíssimo!
Mary aproximou-se, beijou-me na face e estendeu-me um ramo de flores imaginário. Avassalado pela nostalgia de um país que ainda não deixara, mais não pude do que
unir os pós e fazer uma vénia, com as flores apertadas ao peito.
Depois Mary disse:
- Vamo-nos embora. Estou cansada.
Ian McEwan
O melhor da literatura para todos os gostos e idades


















