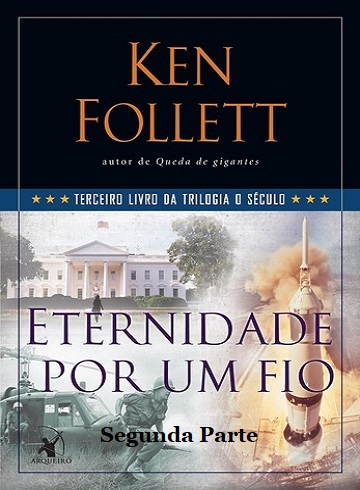ETERNIDADE POR UM FIO / Ken Follett
ETERNIDADE POR UM FIO / Ken Follett
.
.
.

.
.
Pelo menos não no meu departamento. Ele trabalhava na administração: designava juízes para os casos, marcava audiências, gerenciava o funcionamento dos prédios dos tribunais. – Eu gostaria de conhecê-los mesmo assim. Homem de personalidade forte, Hans havia aprendido a se controlar. Ao observá-lo, Rebecca identificou em seus olhos uma conhecida centelha de raiva diante da sua insistência, que ele com muito esforço conseguiu conter. – Vou organizar alguma coisa – falou. – Quem sabe vamos a um bar uma noite dessas? Hans era o primeiro homem que Rebecca conhecia que estava à altura de seu pai. Apesar de seguro e autoritário, sempre escutava o que ela dizia. Tinha um bom emprego – poucas pessoas eram donas de um carro na Alemanha Oriental –, e os funcionários do governo em geral eram comunistas linha-dura, mas ele surpreendentemente compartilhava seu ceticismo político. Assim como seu pai, era alto, bonito e sabia se vestir. Era o homem que ela estava esperando. Somente uma vez durante o namoro, por um breve instante, Rebecca duvidara dele. Os dois tinham sofrido um acidente de carro sem gravidade. A culpa fora toda do outro motorista, que saíra de uma rua lateral sem fazer a parada obrigatória. Coisas assim aconteciam diariamente, mas Hans tinha ficado louco de raiva. Embora o estrago nos dois carros houvesse sido mínimo, tinha chamado a polícia, mostrado seu crachá do Ministério da Justiça e mandado prender o outro sujeito por dirigir de maneira perigosa. Depois do acidente, ele lhe pediu desculpas por ter perdido a calma. Assustada com aquele comportamento vingativo, Rebecca por pouco não terminou o relacionamento, mas Hans lhe explicou que não estava no seu temperamento normal por causa das pressões no trabalho, e ela acreditou. Sua confiança tinha se justificado: ele nunca mais fizera nada daquele tipo. Ao completarem um ano de namoro, quando já fazia seis meses que dormiam juntos quase todos os fins de semana, Rebecca começou a estranhar que ele não a pedisse em casamento. Nenhum dos dois era mais criança: na época, ela estava com 28 anos, ele, com 33. Assim, ela mesma fez o pedido e, apesar de espantado, ele disse sim. Hans encostou o carro em frente à escola na qual ela trabalhava. O prédio era moderno e bem equipado: os comunistas levavam a educação a sério. Diante do portão, cinco ou seis alunos mais velhos fumavam de pé, sob uma árvore. Eles encararam Rebecca, que os ignorou e se despediu do marido com um beijo na boca antes de saltar do carro. Os meninos a cumprimentaram com educação, mas ela pôde sentir seus olhos ávidos de adolescentes passearem por seu corpo enquanto chapinhava pelas poças no pátio da escola. Rebecca vinha de uma família de políticos. O avô fora membro social-democrata do Parlamento alemão, o Reichstag, até Hitler subir ao poder. A mãe, também social-democrata, tinha integrado o conselho municipal durante o breve interlúdio democrático de Berlim Oriental após a guerra. Mas a Alemanha Oriental agora era uma tirania comunista, e Rebecca não via utilidade em se meter na política. Por isso canalizava seu idealismo para o magistério, na esperança de que a geração seguinte fosse menos dogmática, mais tolerante e mais inteligente. Na sala dos professores, verificou o horário de emergência afixado ao quadro de avisos. A maioria de suas turmas estaria dobrada nesse dia, com dois grupos de alunos imprensados dentro de uma mesma sala. Ela lecionava russo, mas hoje também precisaria dar uma aula de inglês. Não dominava o idioma, embora tivesse aprendido alguns rudimentos com a avó Maud, que era britânica de nascimento e, aos 70 anos, ainda esbanjava energia. Aquela era a segunda vez que lhe pediam que desse aula de inglês, e ela começou a pensar em um texto que pudesse usar. Da primeira vez, tinha usado um folheto distribuído aos soldados americanos explicando-lhes como se entender com os alemães; além de acharem o texto hilário, os alunos aprenderam muito. Hoje, talvez escrevesse no quadro-negro a letra de uma música que eles conhecessem e os fizesse traduzi-la para o alemão. Poderia ser “The Twist”, por exemplo, que não parava de tocar na rádio das Forças Norte-Americanas. Seria uma aula não convencional, mas era o melhor que ela podia fazer. A escola enfrentava uma desesperadora escassez de professores, pois metade do quadro de funcionários havia emigrado para a Alemanha Ocidental, onde se ganhavam 300 marcos a mais por mês e as pessoas eram livres. A situação era a mesma na maioria das escolas da Alemanha Oriental. E os professores não eram os únicos: médicos podiam receber o dobro na
parte ocidental. Carla, mãe de Rebecca, era chefe de enfermagem em um grande hospital de Berlim Oriental e estava arrancando os cabelos com a falta de enfermeiros e médicos. O mesmo acontecia na indústria e até nas Forças Armadas. Era uma crise nacional. Enquanto ela escrevia a letra de “The Twist” em um caderno, tentando se lembrar do verso que dizia algo sobre “minha irmãzinha”, o subdiretor da escola entrou na sala. Bernd Held era com certeza o melhor amigo de Rebecca fora da família. Magro e de cabelos escuros, tinha cerca de 40 anos e uma cicatriz pálida na testa, onde fora atingido por um estilhaço de bomba ao defender as Colinas de Seelow, no auge da guerra. Dava aulas de física, mas compartilhava o interesse de Rebecca por literatura russa, e umas duas vezes por semana os dois almoçavam juntos seus sanduíches. – Prestem atenção, todos – disse ele. – Infelizmente, tenho más notícias. Anselm nos deixou. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Anselm Weber era o diretor da escola. Era um comunista leal; todos os diretores tinham de ser. Mas os seus princípios pareciam ter sido derrotados pelo atrativo da próspera e livre Alemanha Ocidental. – Vou assumir o cargo até nomearem um novo diretor. Tanto Rebecca quanto os outros docentes da escola sabiam que, se o critério fosse competência, o próprio Bernd deveria ficar com o cargo, só que ele estava excluído porque se recusava a entrar para o Partido Socialista Unitário, o SED – cuja única diferença em relação ao Partido Comunista era o nome. Pelo mesmo motivo, Rebecca tampouco poderia ser diretora. Anselm insistira com ela para que entrasse para o partido, mas isso estava fora de cogitação. Para ela, seria como ingressar por vontade própria em um manicômio e fingir que todos os outros pacientes eram sãos. Enquanto Bernd discorria sobre as providências emergenciais, ela se perguntava quando a escola teria um novo diretor. Dali a um ano? Quanto tempo iria durar aquela crise? Ninguém saberia responder. Antes da primeira aula, checou seu escaninho, mas encontrou-o vazio. A correspondência ainda não tinha chegado. Talvez o carteiro também tivesse ido para a Alemanha Ocidental. A carta que viraria sua vida do avesso ainda estava a caminho. Ela deu sua primeira aula: uma discussão do poema russo “O cavaleiro de bronze” com um grupo grande de jovens de 17 e 18 anos. Usava esse texto todos os anos, desde que começara a lecionar. Como sempre, guiou os alunos na direção da análise soviética ortodoxa, explicando que, para Pushkin, o conflito entre interesse pessoal e dever público era solucionado a favor do público. Na hora do almoço, levou seu sanduíche para a sala do diretor e sentou-se em frente a Bernd diante da grande escrivaninha. Olhou para a prateleira repleta de bustos de cerâmica vagabundos: Marx, Lênin e Walter Ulbricht, o líder comunista alemão-oriental. O colega acompanhou seu olhar e sorriu.
– Que dissimulado esse Anselm – comentou. – Passou anos fingindo acreditar piamente e então... puff, desaparece. – Você nunca pensa em ir embora? – perguntou-lhe Rebecca. – É divorciado, sem filhos... não tem vínculo algum. Ele olhou em volta, como se verificasse se havia alguém escutando, então deu de ombros. – Já pensei nisso... Quem nunca pensou? Mas e você? Seu pai já trabalha mesmo em Berlim Ocidental, não é? – É. Ele tem uma fábrica de televisores. Mas minha mãe está decidida a ficar na parte oriental. Segundo ela, precisamos resolver nossos problemas, não fugir deles. – Eu conheci sua mãe. Uma verdadeira leoa. – Isso ela é, mesmo. E a casa em que moramos está na família dela há gerações. – E o seu marido? – Ele é dedicado ao emprego. – Então não preciso ter medo de perder você? Que alívio. – Bernd... – começou Rebecca, mas hesitou. – Pode falar. – Posso lhe fazer uma pergunta pessoal? – Claro. – Você largou sua esposa porque ela estava tendo um caso? Ele tensionou o corpo, mas mesmo assim respondeu. – Foi. – E como você descobriu? Ele estremeceu como quem sente uma dor súbita. – Essa pergunta o incomoda? – indagou ela, aflita. – É pessoal demais? – Para você eu não me importo de contar. Eu pressionei e ela admitiu. – Mas o que fez você desconfiar? – Várias pequenas coisas... Rebecca o interrompeu: – O telefone toca, você atende e, depois de um silêncio de alguns segundos, a pessoa do outro lado desliga. Ele assentiu. Ela foi em frente: – Seu cônjuge rasga um bilhete em pedacinhos, joga na privada e dá a descarga. Durante o fim de semana, é chamado para uma reunião de emergência. À noite, passa duas horas escrevendo algo que não quer lhe mostrar. – Ai, não – disse Bernd em um tom triste. – É sobre Hans que você está falando. – Ele está tendo um caso, não está? – Ela pousou o sanduíche na mesa; tinha perdido o apetite. – Diga-me sinceramente o que você acha. – Sinto muito. Bernd a beijara uma vez, quatro meses antes, no último dia do semestre de outono. Na hora
de se despedir e desejar Feliz Natal, tinha segurado de leve o seu braço, inclinado a cabeça e lhe dado um beijo na boca. Ela lhe pedira que nunca mais fizesse aquilo e dissera que gostaria de continuar sua amiga. Na volta às aulas, em janeiro, ambos fingiram que nada tinha acontecido. Algumas semanas depois, ele chegara a lhe contar que tinha marcado um encontro com uma viúva da idade dele. Rebecca não queria incentivar esperanças vãs, mas Bernd era a única pessoa com quem podia conversar fora da sua família, e ela não queria preocupá-los; não ainda. – Eu tinha tanta certeza de que Hans me amava... – falou, e seus olhos se encheram de lágrimas. – E eu o amo. – Talvez ele ame você. É que alguns homens não conseguem resistir à tentação. Ela não sabia se Hans considerava sua vida sexual satisfatória. Ele nunca reclamava, mas os dois só transavam cerca de uma vez por semana, frequência que ela considerava baixa para recém-casados. – Eu só quero ter minha própria família, igual à da minha mãe. Uma família em que todos se sintam amados, apoiados e protegidos – falou. – Pensei que pudesse ter isso com Hans. – Talvez ainda possa – disse Bernd. – Um caso não significa necessariamente o fim do casamento. – No primeiro ano? – Concordo que é bem ruim. – O que devo fazer? – Perguntar. Ele pode admitir ou negar, mas pelo menos vai saber que você sabe. – E depois? – O que você quer? Estaria disposta a se divorciar? Ela fez que não com a cabeça. – Eu nunca iria embora. O matrimônio é uma promessa. Não se pode cumprir uma promessa só quando nos convém. É preciso mantê-la mesmo que ela seja contrária à nossa inclinação. É isso que significa ser casado. – Eu fiz o contrário. Você deve pensar mal de mim. – Não julgo você nem ninguém. Só estou falando de mim mesma. Amo meu marido e quero que ele seja fiel. O sorriso de Bernd exprimia admiração, mas também pesar. – Espero que seu desejo se realize. – Você é um bom amigo. O sinal da primeira aula da tarde tocou. Rebecca se levantou e guardou o sanduíche de volta no invólucro de papel. Não iria comê-lo, nem agora nem mais tarde, no entanto, como a maioria das pessoas que passara pela guerra, tinha horror de jogar comida fora. Secou os olhos úmidos com um lenço de pano. – Obrigada por me escutar – agradeceu. – Não fui um grande reconforto.
– Foi, sim. – Ela saiu da sala. Ao se aproximar da sala onde daria a aula de inglês, percebeu que não tinha destrinchado a letra inteira de “The Twist”. No entanto, era professora havia tempo suficiente para improvisar. – Quem já ouviu a música “The Twist”? – perguntou em voz alta ao entrar pela porta. Todos os alunos tinham ouvido. Ela foi até o quadro-negro e pegou um cotoco de giz. – E qual é a letra da música? Todos começaram a gritar ao mesmo tempo. No quadro, ela escreveu: “Come on baby, let’s do the Twist”. Então perguntou: – Como ficaria em alemão? Por um tempo, Rebecca se esqueceu dos próprios problemas. Encontrou a carta em seu escaninho no intervalo do meio da tarde. Levou-a até a sala dos professores e preparou uma xícara de café solúvel antes de abri-la. Quando leu, derramou a bebida no chão. Era uma única folha de papel, que trazia o cabeçalho do Ministério da Segurança de Estado. Era o nome oficial da polícia secreta, conhecida extraoficialmente como Stasi. A carta estava assinada por um sargento chamado Scholz e ordenava que ela comparecesse à sua sala na sede do ministério para ser interrogada. Rebecca limpou o café derramado, desculpou-se com os colegas, fingiu que nada estava acontecendo e foi até o banheiro feminino, onde se trancou em um dos cubículos. Precisava pensar antes de se confidenciar com alguém. Qualquer habitante da Alemanha Oriental sabia sobre aquelas cartas e todos temiam receber uma delas. A correspondência significava que Rebecca tinha feito alguma coisa errada, talvez algo banal, mas que mesmo assim chamara a atenção dos observadores. Pelo que os outros diziam, não adiantava protestar inocência. A atitude da polícia seria considerar que ela com certeza era culpada de alguma coisa, caso contrário por que a estariam interrogando? Sugerir que eles pudessem ter cometido um erro era insultar sua competência, o que também era crime. Ela examinou a carta de novo e viu que o interrogatório estava marcado para as cinco horas daquela mesma tarde. O que ela poderia ter feito? Sua família era altamente suspeita, claro. O pai, Werner, era capitalista e tinha uma fábrica na qual o governo da Alemanha Oriental não podia tocar, pois estava situada na parte ocidental de Berlim. A mãe, Carla, era uma social-democrata notória. A avó, Maud, era irmã de um conde inglês. Já fazia alguns anos, porém, que as autoridades não os importunavam, e Rebecca imaginava que seu casamento com um funcionário do Ministério da Justiça lhes tivesse proporcionado uma garantia de respeitabilidade. Evidentemente não era o caso. Será que ela cometera algum crime? Tinha um exemplar do livro A revolução dos bichos,
alegoria anticomunista assinada por George Orwell que era proibida no país. Seu irmão mais novo, Walli, de 15 anos, tocava violão e cantava músicas americanas de protesto como “This Land Is Your Land”. Ela própria às vezes ia a Berlim Ocidental ver mostras de arte abstrata. Em matéria de arte, os comunistas eram tão conservadores quanto matronas vitorianas. Enquanto lavava as mãos, olhou-se no espelho. Não parecia estar com medo. Tinha o nariz reto, o queixo bem marcado e olhos castanhos penetrantes. Seus cabelos escuros rebeldes estavam presos para trás, bem apertados. Era alta e imponente, e algumas pessoas a consideravam intimidadora. Era capaz de enfrentar uma sala cheia de estudantes de 18 anos indisciplinados e silenciá-los com uma única palavra. Mas estava com medo. O que a amedrontava era saber que a Stasi poderia fazer qualquer coisa. Na realidade, nada controlava a polícia secreta: reclamar dela por si só já era crime. E isso a fazia lembrar o Exército Vermelho no final da guerra. Os soldados soviéticos tinham ficado livres para roubar, estuprar e matar alemães, e tinham feito uso dessa liberdade em uma orgia de barbárie indescritível. Sua última aula do dia, sobre a construção da voz passiva na gramática russa, foi um horror: de longe a pior que já dera desde que se formara. Os alunos não puderam deixar de notar que havia algo errado e, de modo comovente, facilitaram as coisas para a professora, chegando mesmo a lhe fazer sugestões úteis quando ela não encontrava o termo certo. Graças à indulgência deles, ela conseguiu levar a aula até o fim. Quando o dia terminou, Bernd estava trancado na sala do diretor com autoridades do Ministério da Educação, provavelmente debatendo sobre como manter a escola aberta sem metade do quadro de docentes. Rebecca não queria ir à sede da Stasi sem avisar a ninguém, só para o caso de eles decidirem mantê-la lá, por isso escreveu um bilhete para o colega avisando sobre a convocação. Então pegou um ônibus e percorreu as ruas molhadas de chuva até a Normannen Strasse, no subúrbio de Lichtenberg. A sede da Stasi ficava em um prédio comercial novo e feio. A construção estava inacabada, e havia escavadeiras no estacionamento e andaimes em um dos cantos. O lugar tinha um aspecto triste sob a chuva, e decerto não ficaria mais alegre à luz do sol. Ao entrar pela porta, ela se perguntou se algum dia tornaria a sair. Atravessou o átrio espaçoso, apresentou a carta na mesa da recepção e foi acompanhada de elevador até um andar superior. Conforme a cabine subia, seu medo ia aumentando. Ela saltou em um corredor pintado em um tom de amarelo-mostarda medonho. Foi levada até uma sala vazia, mobiliada apenas com uma mesa de tampo de plástico e duas cadeiras desconfortáveis feitas de tubos de metal. Um cheiro forte de tinta pairava no ar. Seu acompanhante saiu. Ela passou cinco minutos sentada sozinha, trêmula. Desejou ser fumante; talvez um cigarro a acalmasse. Esforçou-se para não chorar. O sargento Scholz entrou. Era um pouco mais jovem do que ela, uns 25 anos, avaliou. Vinha carregando uma pasta fina. Sentou-se, pigarreou para limpar a garganta, abriu a pasta e
franziu o cenho. Rebecca pensou que ele estivesse tentando parecer importante e que talvez aquele fosse o seu primeiro interrogatório. – A senhora é professora na Escola Politécnica de Ensino Médio Friedrich Engels – começou ele. – Sim. – Onde mora? Ela respondeu, mas achou aquilo estranho. Por acaso a polícia secreta não sabia seu endereço? Isso talvez explicasse por que a carta havia chegado na escola, e não em sua casa. Teve de dizer o nome e a idade dos pais e dos avós. – Está mentindo para mim! – disse Scholz, triunfante. – Diz que sua mãe tem 39 anos e a senhora, 29. Como ela pode ter tido a senhora aos 10 anos de idade? – Eu sou adotada – respondeu Rebecca, aliviada por ser capaz de fornecer uma explicação inocente. – Meus pais biológicos morreram no final da guerra, quando uma bomba caiu em cima da nossa casa. Na época, ela estava com 13 anos. Bombas do Exército Vermelho choviam sobre a cidade em ruínas e ela estava sozinha, perplexa e aterrorizada. Era uma adolescente roliça e fora escolhida por um grupo de soldados para ser estuprada, mas Carla a salvara, se oferecendo em seu lugar. Mesmo assim, tinha sido uma experiência aterrorizante, que deixara Rebecca hesitante e nervosa em relação ao sexo. Se Hans estava insatisfeito, com certeza a culpa devia ser dela. Ela estremeceu e tentou afastar a lembrança. – Carla Franck me salvou de... – Conteve-se bem a tempo. Os comunistas negavam que soldados do Exército Vermelho tivessem cometido estupros, embora qualquer mulher que estivesse na Alemanha Oriental em 1945 conhecesse a terrível verdade. – Ela me salvou – repetiu, pulando os detalhes controversos. – Mais tarde, ela e Werner me adotaram legalmente. Scholz anotava tudo. Não podia haver muita coisa naquela pasta, pensou Rebecca, mas algo devia haver. Se ele pouco sabia sobre a sua família, o que teria despertado seu interesse? – A senhora é professora de inglês – disse ele. – Não. Sou professora de russo. – Está mentindo outra vez. – Não, nem menti antes – retrucou ela, seca. Ficou espantada por falar com o sargento naquele tom desafiador. Não estava mais tão assustada quanto antes. Talvez aquilo fosse temerário. O rapaz pode até ser jovem e inexperiente, pensou, mas mesmo assim tem poder para destruir a minha vida. – Meu diploma é de língua e literatura russa – continuou, ensaiando um sorriso amigável. – Sou chefe do departamento de russo da minha escola. Só que metade dos nossos professores foi para o Ocidente e estamos sendo obrigados a improvisar. Por isso dei duas aulas de inglês na última semana.
– Então eu tinha razão! E nas suas aulas a senhora envenena as mentes dos alunos com propaganda americana. – Ah, que droga – grunhiu ela. – É por causa dos conselhos aos soldados americanos? Ele leu uma folha de anotações. – Está escrito aqui: “Lembre-se de que na Alemanha Oriental não existe liberdade de expressão.” Isso não é propaganda americana? – Eu expliquei aos alunos que os americanos têm um conceito pré-marxista de liberdade – respondeu Rebecca. – Imagino que o seu informante tenha se esquecido de mencionar isso. Ela se perguntou quem seria o delator. Devia ser um aluno, ou talvez um pai ou mãe que tivesse ficado sabendo sobre a aula. A Stasi tinha mais espiões do que os nazistas. – E aqui também diz: “Quando estiver em Berlim Oriental, não peça orientações à polícia. Ao contrário dos policiais americanos, eles não estão lá para ajudar vocês.” O que me diz sobre isso? – Não é verdade? Quando o senhor era adolescente, algum dia perguntou a um Vopo onde ficava uma estação do U-Bahn? Os Vopos eram a Volkspolizei, a polícia da Alemanha Oriental. – Não poderia ter achado algo mais apropriado para ensinar às crianças? – Por que o senhor não vai à nossa escola dar uma aula de inglês? – Eu não falo inglês! – Nem eu! – gritou Rebecca. Arrependeu-se na mesma hora de ter levantado a voz, mas Scholz não estava zangado; na verdade, parecia um pouco intimidado. Era claramente um novato, mas ela não deveria se descuidar. – Nem eu – repetiu, mais baixo dessa vez. – Então estou improvisando, usando qualquer material de língua inglesa que esteja disponível. – Estava na hora de um pouco de humildade fingida, pensou. – Eu obviamente cometi um erro, e sinto muito por isso, sargento. – A senhora parece uma mulher inteligente – disse ele. Ela estreitou os olhos. Seria uma armadilha? – Obrigada pelo elogio – respondeu, neutra. – Nós precisamos de pessoas inteligentes, sobretudo mulheres. Rebecca não entendeu. – Para quê? – Para ficar de olhos abertos, ver o que acontece por aí... nos avisar quando as coisas derem errado. Ela ficou estupefata. Depois de alguns instantes, incrédula, perguntou: – Está me pedindo para virar informante da Stasi? – É um trabalho importante, que visa ao bem comum. E é vital nas escolas, que é onde são forjadas as atitudes dos jovens. – Entendo. O que entendia, isso sim, era que aquele jovem agente da polícia secreta tinha cometido um
erro: checara seus antecedentes em seu local de trabalho, mas não sabia nada sobre sua notória família. Se tivesse averiguado o passado de Rebecca, Scholz jamais teria mandado chamá-la. Podia imaginar como aquilo tinha acontecido. “Hoffmann” era um dos sobrenomes mais comuns que havia e “Rebecca” não era um nome raro. Seria fácil para um novato sem experiência cometer o erro de investigar a Rebecca Hoffmann errada. – Mas as pessoas que fazem esse trabalho precisam ser totalmente honestas e confiáveis – prosseguiu ele. A afirmação era tão paradoxal que ela quase riu. – Honestas e confiáveis? – repetiu. – Para espionar os próprios amigos? – Exatamente. – Scholz pareceu não entender a ironia. – E há vantagens. – Ele baixou a voz: – A senhora se tornaria uma de nós. – Não sei o que dizer. – Não precisa decidir agora. Vá para casa e pense no assunto. Mas não converse a respeito disso com ninguém. Isso deve ser um segredo, é claro. – É claro. Ela estava começando a se sentir aliviada. Scholz não demoraria a descobrir que ela não se adequava aos seus objetivos e retiraria a proposta. Àquela altura, porém, não poderia voltar a fingir que ela fazia propaganda do imperialismo capitalista. Talvez ela conseguisse se safar daquela situação. O sargento se levantou e ela fez o mesmo. Seria possível que a sua visita à sede da Stasi fosse terminar tão bem? Parecia bom demais para ser verdade. Educado, ele segurou-lhe a porta, depois a acompanhou pelo corredor amarelo. Um grupo de cinco ou seis agentes conversava, animado, em pé junto às portas do elevador. Um deles lhe pareceu surpreendentemente familiar: um homem alto, de ombros largos, um pouco curvados, usando um terno de flanela cinza-claro que ela conhecia bem. Encarou-o enquanto se aproximava do elevador, sem compreender o que estava vendo. Aquele era seu marido, Hans. O que ele estava fazendo ali? Seu primeiro pensamento assustado foi que ele também estava sendo interrogado. Instantes depois, porém, pela maneira como os homens estavam reunidos, entendeu que ele não era tratado como suspeito. O que estaria acontecendo, então? Seu coração disparou de medo, mas de quê? Talvez o emprego de Hans no Ministério da Justiça o obrigasse a ir ali de vez em quando, pensou. Então ouviu um dos outros lhe dizer: – Mas, tenente, com todo o respeito... Não ouviu o resto da frase. Tenente? Funcionários públicos não tinham patente militar, a menos que trabalhassem para a polícia... Foi então que Hans a avistou. Ela viu as emoções cruzarem o semblante do marido; os homens eram fáceis de ler. No
início, Rebecca franziu a testa com o espanto de quem vê algo conhecido em um contexto estranho, como um nabo em uma biblioteca. Seus olhos então se arregalaram de choque ao aceitar a realidade do que estava vendo, e sua boca se entreabriu. O que mais abalou Rebecca, porém, foi a expressão seguinte: as bochechas de Hans coraram de vergonha e seus olhos se desviaram dela com um inconfundível ar de culpa. Rebecca passou vários segundos em silêncio, tentando processar aquilo. Ainda sem entender o que estava vendo, falou: – Boa tarde, tenente Hoffmann. Scholz fez uma cara surpresa e amedrontada. – A senhora conhece o tenente? – Muito bem – respondeu ela, esforçando-se para manter a compostura enquanto uma terrível suspeita começava a se formar em sua mente. – Estou começando a me perguntar se ele já vem me vigiando há algum tempo. Mas aquilo não era possível... ou era? – É mesmo? – foi a reação idiota de Scholz. Rebecca continuou encarando Hans à espera da reação do marido à sua sugestão, na esperança de que ele fosse descartá-la com uma risada e lhe dar na mesma hora a verdadeira e inocente explicação. Sua boca estava aberta, como prestes a dizer alguma coisa, mas ela pôde ver que ele não pretendia falar a verdade: na realidade, pensou, suas feições eram as de um homem que tenta desesperadamente inventar uma desculpa, mas não consegue pensar em nenhuma que dê conta de todos os fatos. Scholz estava à beira das lágrimas. – Eu não sabia! Sem tirar os olhos de Hans, Rebecca falou: – Eu sou casada com Hans. A expressão de seu marido voltou a mudar, tornando-se uma máscara de fúria à medida que a culpa se transformava em raiva. Quando enfim falou, não foi com Rebecca. – Cale essa boca, Scholz. Ela então teve certeza, e o mundo tal como o conhecia ruiu ao seu redor. Scholz estava atônito demais para acatar o aviso de Hans. – A senhora é essa Frau Hoffmann? – perguntou a Rebecca. Hans se moveu com a velocidade da fúria. Com um punho direito poderoso, partiu para o ataque e acertou um soco na cara de Scholz. O rapaz cambaleou para trás, o lábio sangrando. – Seu idiota de merda – disse Hans. – Você acabou de arruinar dois anos de árduo trabalho secreto. – Os telefonemas estranhos, as reuniões repentinas, os bilhetes rasgados – murmurou Rebecca para si mesma. Hans não estava tendo um caso. Era pior do que isso. Apesar de atordoada, ela sabia que aquela era a hora de descobrir a verdade, enquanto
todos estavam desestabilizados, antes de começarem a mentir e inventar histórias para servir como desculpa. Com esforço, conseguiu manter o foco. – Hans, você se casou comigo só para me espionar? Ele a encarou sem responder. Scholz virou as costas e se afastou cambaleando pelo corredor. – Vão atrás dele – ordenou Hans. O elevador chegou e Rebecca entrou ao mesmo tempo que ele gritava: – Peguem esse idiota e joguem-no em uma cela! Quando ele se virou para falar com a esposa, as portas do elevador se fecharam e ela apertou o botão do térreo. Ao atravessar o átrio, mal conseguia enxergar através das lágrimas. Ninguém lhe dirigiu a palavra; com certeza devia ser comum ver pessoas chorando ali. Ela encontrou o caminho até o ponto de ônibus pelo estacionamento molhado de chuva. Seu casamento era uma farsa. Ela mal conseguia absorver essa informação. Tinha ido para a cama com Hans, tinha amado aquele homem e se casado com ele, mas durante todo o tempo ele a estivera enganando. A infidelidade podia ser considerada um lapso temporário, mas Hans tinha sido falso com ela desde o início. Devia ter começado a sair com ela para espionála. Sem dúvida nunca pretendera de fato se casar com ela. Originalmente, era provável que a sua única intenção fosse um flerte que lhe permitisse ter acesso à casa. O engodo funcionara bem até demais; ele devia ter ficado chocado quando Rebecca o pedira em casamento. Talvez tivesse sido forçado a tomar uma decisão: dizer não e desistir da vigilância ou se casar com ela e seguir em frente. Talvez até seus chefes tivessem ordenado que aceitasse. Como ela podia ter sido enganada de forma tão completa? Um ônibus se aproximou e ela embarcou. Caminhou olhando para o chão até um lugar bem lá atrás e cobriu o rosto com as mãos. Pensou na época de namoro. Sempre que ela havia abordado as questões que tinham causado problemas em seus relacionamentos anteriores – seu feminismo, seu anticomunismo, sua proximidade com Carla –, Hans dera todas as respostas certas. Ela havia acreditado que os dois pensavam da mesma forma, uma afinidade quase milagrosa. Jamais lhe ocorrera que ele pudesse estar fingindo. O ônibus se arrastava em direção ao bairro central de Mitte por uma paisagem formada de entulho velho e concreto novo. Rebecca tentou pensar no futuro, mas não conseguiu. Tudo o que pôde fazer foi rememorar o passado. Lembrou-se do dia do casamento, da lua de mel e do ano que haviam passado juntos; tudo isso agora lhe parecia uma peça de teatro na qual Hans representava um papel. Ele havia lhe roubado dois anos, e isso a deixou tão furiosa que ela até parou de chorar. Recordou a noite em que o pedira em casamento. Os dois estavam passeando pelo Parque do Povo, em Friedrichshain, e haviam parado em frente ao antigo Chafariz de Conto de Fadas para admirar as tartarugas esculpidas em pedra. Rebecca estava usando um vestido azul
marinho, a cor que mais a favorecia. Hans estreava um paletó de tweed; conseguia encontrar roupas de qualidade mesmo no deserto de moda que era a Alemanha Oriental. Com os braços dele a envolvê-la, ela se sentira segura, protegida, amada. Queria um único homem para sempre, e esse homem era Hans. – Vamos nos casar – falou, com um sorriso. Ele a beijou e disse: – Que ideia maravilhosa. Fui uma boba, pensou ela, furiosa; boba e burra. Uma coisa estava explicada: Hans ainda não quisera filhos. Segundo ele, primeiro queria ser promovido de novo e comprar uma casa própria. Não havia mencionado isso antes do casamento e, levando em conta suas idades, Rebecca ficara surpresa: ela já estava com 29 anos, ele com 34. Agora sabia o verdadeiro motivo. Quando saltou do ônibus, estava cega de raiva. Caminhou depressa pelo vento e pela chuva até o antigo e alto casarão onde morava. Pela porta aberta da sala principal, pôde ver do hall a mãe muito entretida em uma conversa com Heinrich von Kessel, que tinha sido membro social-democrata do conselho municipal junto com ela após a guerra. Passou por eles depressa, sem dizer nada. Lili, sua irmã de 12 anos, fazia os deveres de casa sobre a mesa da cozinha. Ela ouviu o piano de cauda na sala íntima: seu irmão Walli estava tocando um blues. Ela subiu até o andar de dois cômodos que dividia com Hans. A primeira coisa que viu ao entrar foi a maquete do marido. Ele havia passado o primeiro ano de casamento trabalhando naquilo, uma miniatura do Portão de Brandemburgo feita com palitos de fósforo e cola. Todos os seus conhecidos tinham de guardar os fósforos usados. A maquete estava quase pronta, sobre a mesinha no meio do cômodo. Ele já havia construído o arco central e as duas laterais e estava agora fazendo a bem mais difícil quadriga, a carruagem puxada por quatro cavalos que ficava no topo do monumento. Devia estar entediado, pensou Rebecca, amargurada. Decerto aquele projeto era uma forma de passar o tempo nas noites em que era obrigado a ficar na companhia de uma mulher que não amava. Seu casamento era igual àquela maquete, uma cópia frágil do original. Ela foi até a janela e olhou para a chuva lá fora. Um minuto depois, um Trabant 500 bege parou junto ao meio-fio e Hans saltou. Como ele se atrevia a dar as caras naquela casa agora? Sem ligar para a chuva que entrou, Rebecca escancarou a janela e gritou: – Vá embora daqui! Hans parou na calçada molhada e olhou para cima. Rebecca deu com os olhos em um par de sapatos do marido no chão ao seu lado. Eram calçados feitos à mão por um velho sapateiro que ele havia encontrado. Recolheu um dos pés e o atirou em cima de Hans. Sua mira foi certeira e, apesar de ele ter desviado, foi atingido no alto da cabeça. – Sua piranha maluca! – berrou ele.
Walli e Lili apareceram. Parados na soleira da porta, ficaram olhando a irmã adulta como se ela tivesse virado outra pessoa, o que provavelmente era verdade. – Você se casou por ordem da Stasi! – gritou Rebecca pela janela. – Qual de nós dois é o maluco? – Ela jogou o outro pé de sapato e errou. – O que você está fazendo? – perguntou Lili, em tom assombrado. – Que loucura, cara... – disse Walli com um sorriso. Do lado de fora, dois passantes pararam e ficaram observando, e um vizinho surgiu na porta de casa e começou a assistir, fascinado. Hans os encarou com fúria. Era um homem orgulhoso, para quem fazer papel de bobo em público era um suplício. Rebecca olhou em volta à procura de mais alguma coisa para jogar e deparou com a maquete do Portão de Brandemburgo. Tinha uma base de madeira balsa. Rebecca a segurou com as duas mãos. Era pesada, mas ela deu conta. – Caramba! – exclamou Walli. Rebecca levou a maquete até a janela. – Não se atreva! – gritou Hans. – Isso é meu! Ela apoiou a base de madeira balsa no peitoril da janela. – Você arruinou a minha vida, seu tirano da Stasi! – berrou. Uma das pessoas que assistia à cena, uma mulher, deu uma risada que foi como um cacarejo cheio de desprezo e zombaria, e ecoou mais alto do que o barulho da chuva. Rubro de raiva, Hans olhou em volta para tentar identificar de onde viera o som, mas não conseguiu. Ouvir alguém rindo dele era o pior tipo de tortura. – Ponha essa maquete de volta no lugar, sua piranha! – vociferou ele. – Passei um ano trabalhando nela! – Foi o tempo que passei trabalhando no nosso casamento – rebateu Rebecca, e levantou a maquete. – Eu estou mandando! – esgoelou-se Hans. Rebecca empurrou a maquete pela janela e soltou. O objeto deu uma cambalhota no ar, de modo que a base ficou para cima e a quadriga para baixo. Pareceu levar uma eternidade para cair, e Rebecca teve a sensação de que o tempo havia parado. A maquete então atingiu o quintal da frente calçado de pedra com o mesmo ruído de um papel sendo amassado. Espatifou-se, e os fósforos se espalharam para todos os lados antes de caírem sobre as pedras molhadas e ficarem ali grudados como os raios de um sol em ruínas. A base de madeira agora tocava o chão, pois tudo o que antes havia em cima dela fora reduzido a pó. Hans passou vários segundos encarando a maquete destruída, com a boca aberta, em choque. Então se recuperou e apontou um dedo para Rebecca lá em cima. – Escute bem o que vou dizer – falou, e sua voz soou tão fria que ela de repente sentiu medo. – Você vai se arrepender do que fez, eu garanto. Você e sua família. Vão se arrepender
pelo resto da vida. Eu juro. Então tornou a entrar no carro e foi embora.
CAPÍTULO DOIS
Para o café da manhã, a mãe de George Jakes lhe preparou panquecas de mirtilo e bacon acompanhadas por mingau de fubá grosso. – Se eu comer tudo isso vou ter de começar a lutar na categoria peso pesado – comentou ele. George tinha 77 quilos e era o astro dos pesos meio-pesados do time de luta livre de Harvard. – Coma à vontade e desista de lutar – retrucou a mãe. – Não criei você para ser um atleta desmiolado. – Sentada em frente ao filho à mesa da cozinha, ela se serviu uma tigela de flocos de milho. George não era desmiolado e sua mãe sabia disso: estava prestes a se formar na Escola de Direito de Harvard. Já havia concluído as provas finais e, até onde isso era possível, tinha certeza de ter passado. Agora estava na modesta casa de subúrbio da mãe no condado de Prince George, em Maryland, nos arredores de Washington. – Eu quero continuar em forma – disse ele. – Talvez comece a treinar uma equipe de luta livre do ensino médio. – Isso, sim, valeria a pena. George olhou para a mãe com carinho. Sabia que Jacky Jakes tinha sido bonita: vira fotos suas quando adolescente, na época em que ela sonhava ser artista de cinema. Ela ainda parecia jovem; tinha aquele tipo de pele cor de chocolate escuro que não enruga. “Preto que é bom não racha”, diziam as mulheres negras. Mas a boca larga de sorriso tão rasgado naquelas fotos antigas tinha agora os cantos caídos, em uma permanente expressão determinada e séria. Ela nunca chegara a ser artista. Talvez nunca tivesse tido oportunidade: os poucos papéis para negras em geral acabavam indo parar nas mãos de beldades de pele mais clara. De todo modo, sua carreira tinha acabado antes mesmo de começar quando, aos 16 anos, ela engravidara de George. A expressão preocupada era resultado de ter criado o filho sozinha nos primeiros dez anos, trabalhando como garçonete, morando em uma casinha minúscula atrás da Union Station e instilando no menino a importância do trabalho duro, da educação e da respeitabilidade. – Eu te amo, mãe, mas mesmo assim vou participar da Viagem da Liberdade – disse o rapaz. Jacky contraiu os lábios em reprovação. – Você tem 25 anos – rebateu. – Pode fazer o que quiser. – Não posso, não. Sempre conversei com você antes de tomar qualquer decisão importante. E provavelmente sempre vou conversar. – Você não faz o que eu digo. – Nem sempre. Mas você continua sendo a pessoa mais inteligente que já conheci,
incluindo todo mundo lá em Harvard. – Ah, você está só me bajulando – disse Jacky, mas George pôde ver que o comentário a deixara satisfeita. – Mãe, a Suprema Corte declarou inconstitucional a segregação nos ônibus interestaduais e nas estações rodoviárias, mas o pessoal do Sul está peitando a lei e pronto. Precisamos fazer alguma coisa! – E em que você acha que essa viagem de ônibus vai ajudar? – Nós vamos embarcar aqui em Washington e seguir para o Sul. Vamos sentar na frente, usar as salas de espera só para brancos e pedir que nos sirvam em restaurantes só de brancos, e, quando as pessoas reclamarem, vamos dizer que a lei está do nosso lado e que elas são criminosas e encrenqueiras. – Filho, eu sei que você está certo. Não precisa me dizer isso. Entendo o que a Constituição diz. Mas o que você acha que vai acontecer? – Acho que alguma hora vamos acabar sendo presos. Vai haver um julgamento e nós vamos poder defender nosso ponto de vista diante do mundo. Jacky balançou a cabeça. – Espero que seja mesmo só isso. – Como assim? – Você teve uma criação privilegiada, pelo menos depois que seu pai branco reapareceu nas nossas vidas, quando você tinha 6 anos. Não sabe como é o mundo para a maioria das pessoas de cor. – Eu gostaria que você não dissesse isso. – George estava melindrado; era a mesma acusação que ativistas negros lhe faziam, e isso o irritava. – Não é porque um avô branco pagou meus estudos que sou cego. Eu sei o que acontece. – Então deve saber que ser preso talvez seja a coisa menos grave que pode lhe acontecer. E se a situação ficar violenta? George sabia que sua mãe estava certa. Os Viajantes da Liberdade podiam estar se arriscando a mais do que a prisão. Mas quis tranquilizá-la. – Eu já tive aulas de resistência passiva – falou. Todos os escolhidos para participar da Viagem da Liberdade eram ativistas experientes na luta pelos direitos civis e tinham passado por um programa de treinamento especial que incluía exercícios de simulação. – Um branco se fingiu de racista e me chamou de crioulo, me empurrou, trombou em mim e me arrastou para fora do recinto pelos calcanhares... E eu deixei, embora pudesse ter jogado o cara pela janela usando apenas um dos braços. – Quem era ele? – Um participante da campanha pelos direitos civis. – Não era de verdade. – É claro que não. Ele estava fingindo. – Está certo, então – falou Jacky e, pelo tom da voz dela, George entendeu que a mãe
estava querendo dizer o contrário. – Mãe, vai ficar tudo bem. – Não vou falar mais nada. Vai comer as panquecas ou não? – Olhe para mim – disse ele. – Terno de mohair, gravata estreita, cabelos curtos e sapatos tão engraxados que eu poderia usar as ponteiras como espelho para me barbear. Em geral, George se vestia com elegância para qualquer que fosse a ocasião, mas os Viajantes tinham sido instruídos a se arrumar de forma a parecer o mais respeitáveis possível. – Tirando essa orelha de couve-flor, você até que está bem bonito. Sua orelha direita era deformada por causa da luta. – Quem iria querer machucar um jovem de cor tão distinto? – Você não faz ideia – disse Jacky, subitamente zangada. – Aqueles brancos lá do Sul, eles... – Para consternação de George, os olhos de sua mãe ficaram marejados. – Ai, meu Deus, estou com tanto medo de que você morra! Ele estendeu a mão por cima da mesa e segurou a dela. – Vou tomar cuidado, mãe. Eu juro. Jacky secou os olhos no avental. George comeu um pouco de bacon só para agradá-la, mas estava com pouco apetite, mais ansioso do que demonstrava. Sua mãe não tinha exagerado. Alguns ativistas dos direitos civis haviam se oposto à ideia da Viagem da Liberdade por achar que provocaria violência. – Você vai passar um tempão nesse ônibus – comentou Jacky. – Treze dias daqui até Nova Orleans. Nós vamos parar todas as noites para reuniões e comícios. – O que está levando para ler? – A autobiografia de Gandhi. George sentia que devia saber mais sobre Mahatma Gandhi, cuja filosofia havia inspirado as táticas de protesto não violentas do movimento em defesa dos direitos civis. Ela pegou um livro em cima da geladeira. – Talvez ache este aqui um pouco mais divertido. É um sucesso de vendas. Os dois sempre haviam lido os mesmos livros. O pai de Jacky era professor de literatura em uma faculdade para negros e desde criança ela era uma leitora voraz. Quando George era pequeno, ele e a mãe tinham lido juntos as aventuras dos Bobbsey Twins e dos Hardy Boys, apesar de todos os heróis serem brancos. Agora, passavam regularmente um para o outro os títulos de que tinham gostado. Ele olhou para o exemplar que tinha em mãos. A capa de plástico transparente lhe informou que fora pego na biblioteca pública. – O sol é para todos – leu. – Acabou de ganhar o Pulitzer, não foi? – E a história se passa no Alabama, para onde você está indo. – Obrigado. Alguns minutos depois, ele se despediu da mãe com um beijo, saiu de casa levando uma pequena mala e pegou um ônibus até Washington. Saltou no terminal rodoviário da viação
Greyhound, no centro da cidade. Um pequeno grupo de ativistas dos direitos civis estava reunido no café. Ele já conhecia algumas pessoas dos encontros de preparação. Eram um misto de negros e brancos, homens e mulheres, velhos e jovens. Além de uns dez Viajantes, havia organizadores do Congresso da Igualdade Racial – o CORE –, uns dois jornalistas da imprensa negra e alguns simpatizantes. O CORE decidira dividir o grupo em dois, e metade dos ativistas sairia do terminal da Trailways, do outro lado da rua. Não havia cartazes nem câmeras de TV: tudo estava discreto, o que era tranquilizador. George cumprimentou Joseph Hugo, rapaz branco de olhos azuis saltados que também estudava Direito. Juntos, os dois haviam organizado um boicote na lanchonete da loja de departamentos Woolworth’s em Cambridge, Massachusetts. Assim como o serviço de ônibus, a Woolworth’s era integrada na maioria dos estados, mas segregada no Sul. Só que Joe tinha o dom de sumir antes de qualquer confronto, e George já o havia classificado como um covarde bem-intencionado. – Está vindo conosco, Joe? – perguntou, tentando disfarçar o ceticismo na voz. O outro rapaz fez que não com a cabeça. – Vim só desejar boa sorte. Ele fumava longos cigarros mentolados de filtro branco e bateu nervosamente a cinza de um deles na borda de um cinzeiro de latão. – Que pena. Você é do Sul, não é? – De Birmingham, no Alabama. – Eles vão nos tachar de forasteiros agitadores. Seria útil ter um sulista no ônibus para provar que estão errados. – Não posso, tenho coisas a fazer. George não insistiu. Já estava suficientemente assustado; se começasse a falar sobre os perigos, poderia acabar desistindo de embarcar. Olhou em volta para o grupo reunido. Ficou satisfeito ao ver John Lewis, um estudante de teologia calmo, mas de personalidade marcante, que fora um dos membros fundadores do Comitê Não Violento de Coordenação Estudantil, a mais radical das organizações em defesa dos direitos civis. Seu líder pediu atenção e começou uma curta declaração à imprensa. Enquanto ele falava, George viu um branco alto de uns 40 anos entrar no café usando um terno de linho amarrotado. Apesar de estar acima do peso, era um homem bonito, e seu rosto exibia o tom corado de quem bebe. Como parecia um passageiro do terminal, ninguém prestou atenção nele, que foi se sentar ao lado de George e, passando um braço em volta de seus ombros, deu-lhe um rápido abraço. Era o senador Greg Peshkov, seu pai. O relacionamento entre os dois era um segredo de polichinelo, conhecido pelos íntimos de Washington, mas jamais admitido publicamente. Greg não era o único político a ter um segredo desse tipo. O senador Strom Thurmond tinha bancado os estudos universitários da filha da empregada da família e, segundo os boatos, era o pai da moça – o que não o impedia
de ser um ferrenho segregacionista. Quando Greg havia aparecido, um total desconhecido para o filho de 6 anos, pedira a George que o chamasse de tio Greg, e os dois nunca haviam encontrado eufemismo melhor. Apesar de egoísta e nada confiável, Greg gostava de George à sua maneira. Quando adolescente, o rapaz tivera uma longa fase de raiva em relação a ele, mas depois passara a aceitá-lo pelo que era, raciocinando que ter um pai pela metade era melhor do que não ter pai nenhum. – George, estou preocupado – disse Greg em voz baixa. – Mamãe também. – O que ela falou? – Ela acha que aqueles racistas lá do Sul vão matar todos nós. – Não acho que isso vá acontecer, mas talvez você perca o emprego. – O Sr. Renshaw disse alguma coisa? – Ora, é claro que não, ele não sabe nada sobre o que está acontecendo... ainda. Mas, se você for preso, ele vai descobrir rapidinho. Renshaw, originário de Buffalo, era amigo de infância de Greg e sócio sênior de um prestigioso escritório de advocacia da capital. No verão anterior, Greg conseguira um emprego de verão para George como assistente jurídico no escritório e, como ambos torciam para acontecer, o cargo temporário havia conduzido a uma proposta de emprego fixo para quando ele se formasse. Era um feito e tanto: George seria o primeiro negro a trabalhar no escritório em outra função que não a de faxineiro. Com certa irritação, ele disse: – Os Viajantes da Liberdade não estão desrespeitando a lei. Estamos tentando fazer com que ela seja cumprida. Os criminosos são os segregacionistas, isso sim. Imaginei que um advogado como Renshaw fosse entender isso. – E ele entende. Mas não pode contratar um homem que teve problemas com a polícia. Acredite: seria a mesma coisa se você fosse branco. – Mas nós estamos do lado da lei! – A vida é injusta. Seus tempos de estudante universitário acabaram... Bem-vindo ao mundo real. O líder do grupo chamou: – Pessoal, por favor, comprem suas passagens e ponham as malas no bagageiro. George se levantou. – Não vou conseguir convencê-lo a desistir, não é? – perguntou Greg. Ele estava com uma cara tão arrasada que George desejou poder lhe dizer que sim, mas não podia. – Não. Eu já decidi. – Então, por favor, tente tomar cuidado. O rapaz ficou tocado.
– Tenho sorte por ter quem se preocupe comigo – falou. – Eu sei disso. Greg apertou de leve o seu braço e foi embora discretamente. George entrou na fila do guichê junto com os outros e comprou uma passagem para Nova Orleans. Foi até o ônibus azul e cinza e entregou a mala para ser guardada no compartimento de bagagens. Um grande cão galgo e os dizeres QUE CONFORTO PEGAR UM ÔNIBUS... E DEIXAR A CONDUÇÃO POR NOSSA CONTA estavam pintados na lateral da carroceria. George embarcou. Um dos organizadores da Viagem o encaminhou até um lugar na parte da frente. Outros foram instruídos a sentarem em pares de raças distintas. O motorista nem deu atenção aos Viajantes, e os passageiros normais não demonstraram mais do que uma leve curiosidade. George abriu o livro que a mãe tinha lhe dado e leu a primeira linha. Instantes depois, o organizador instruiu uma das mulheres a se acomodar ao lado de George. Satisfeito, ele meneou a cabeça para a moça. Já a encontrara algumas vezes e gostava dela; seu nome era Maria Summers. Ela usava uma roupa bem-comportada: vestido de algodão cinza-claro com decote fechado e saia rodada. Tinha a pele do mesmo tom fechado e escuro de Jacky, um nariz gracioso e achatado, e lábios que o faziam pensar em beijos. Sabia que ela estudava na Faculdade de Direito da Universidade de Chicago e que, assim como ele, estava prestes a se formar, portanto deviam ter a mesma idade. Supôs que, além de inteligente, ela também devia ser determinada: só assim para entrar na Faculdade de Direito de Chicago com duas desvantagens, já que era ao mesmo tempo negra e mulher. George fechou o livro na mesma hora em que o motorista deu a partida e fez o ônibus andar. Maria baixou os olhos e comentou: – O sol é para todos. Estive em Montgomery no verão passado. Montgomery era a capital do estado do Alabama. – Fazendo o quê? – perguntou George. – Meu pai é advogado e teve um cliente que processou o estado. Trabalhei para papai durante as férias. – E vocês ganharam a causa? – Não. Mas não quero atrapalhar sua leitura. – Imagine! Eu posso ler a qualquer hora. Não é todo dia que se pega um ônibus e uma moça bonita como você senta do nosso lado. – Ih, bem que me avisaram que você era bom de papo. – Se quiser, eu conto meu segredo para você. – Está bem, qual é o seu segredo? – Eu sou sincero. Ela riu. – Mas, por favor, não espalhe – disse ele. – Iria acabar com a minha reputação. O ônibus atravessou o rio Potomac e seguiu em direção à Virgínia pela Route 1. – Você acaba de entrar no Sul, George – comentou Maria. – Já está com medo? – Claro.
– Eu também. A rodovia reta e estreita cortava muitos quilômetros de mata verde-primavera. Eles passaram por cidadezinhas nas quais havia tão pouco a fazer que as pessoas se detinham para ver o ônibus passar. George não olhou muito pela janela. Ficou sabendo que Maria fora criada em uma família muito religiosa e que seu avô era pastor. Contou-lhe que ia à igreja principalmente para agradar à mãe, e ela confessou que era assim também. Os dois conversaram por 80 quilômetros de estrada, o caminho inteiro até Friedricksburg. Os Viajantes se calaram quando o ônibus adentrou a pequena cidade histórica na qual a supremacia branca ainda reinava. O terminal da Greyhound ficava entre duas igrejas de tijolo vermelho com portas brancas, mas no Sul o cristianismo não era necessariamente um bom indício. Quando o ônibus parou, George viu os banheiros da estação e ficou espantado por não haver placas acima das portas indicando SÓ BRANCOS ou SÓ DE COR. Os passageiros desceram para o sol forte e piscaram os olhos para adaptar a vista. Ao observar mais de perto, George viu marcas mais claras acima das portas dos banheiros e deduziu que as placas de segregação tinham sido removidas recentemente. Mesmo assim, os Viajantes começaram a executar seu plano. Primeiro um organizador branco foi usar o imundo sanitário dos fundos, obviamente destinado aos negros. Saiu de lá ileso, mas essa era a parte fácil. George já tinha se oferecido para ser a pessoa negra a desafiar as regras. – Lá vamos nós – falou para Maria, e entrou no banheiro limpo e recém-pintado cuja placa de SÓ BRANCOS sem dúvida acabara de ser removida. Lá dentro, um rapaz branco ajeitava com um pente o topete alto. Olhou para George pelo espelho, mas não disse nada. Embora estivesse assustado demais para conseguir urinar, George não podia simplesmente sair sem fazer nada, então foi lavar as mãos. O rapaz saiu do banheiro e um homem mais velho entrou e se trancou num cubículo. George secou as mãos na toalha de rolo. Depois disso não tinha mais nada a fazer, então saiu. Os outros estavam à sua espera. Ele deu de ombros e disse: – Nada. Ninguém tentou me deter, ninguém falou nada. – Eu pedi uma Coca no balcão e a garçonete me deu – falou Maria. – Acho que alguém aqui resolveu evitar problemas. – Será que é assim que vai ser até Nova Orleans? – perguntou George. – Será que eles simplesmente vão agir como se nada estivesse acontecendo e voltar a impor a segregação quando formos embora? Seria como tirar o nosso chão! – Não se preocupe – retrucou Maria. – Eu conheci as pessoas que governam o Alabama. Acredite, elas não são tão inteligentes assim.
CAPÍTULO TRÊS
Walli Franck estava tocando piano na sala íntima do andar de cima. Era um Steinway de cauda que seu pai mantinha afinado para sua avó Maud tocar. Walli estava tentando se lembrar do riff da canção “A Mess of Blues”, de Elvis Presley. A música era em clave de dó, o que facilitava as coisas. Sentada ali perto, sua avó lia os obituários do Berliner Zeitung. Aos 70 anos, era esbelta, de porte ereto, e usava um vestido de cashmere azul-escuro. – Você toca bem esse tipo de música – comentou, sem tirar os olhos do jornal. – Além dos meus olhos verdes, herdou também o meu ouvido. Seu avô Walter, que Deus o tenha, em homenagem a quem você foi batizado, nunca conseguiu tocar um ragtime. Eu bem que tentei ensinar, mas não teve jeito. – Você tocava ragtime? – perguntou Walli, surpreso. – Nunca ouvi você tocar nada a não ser música clássica. – Foi o ragtime que não nos deixou morrer de fome quando sua mãe era bebê. Depois da Primeira Guerra, eu toquei em uma boate chamada Nachtleben, aqui mesmo em Berlim. Recebia bilhões de marcos por noite, o que mal dava para comprar pão, mas às vezes ganhava gorjetas em moeda estrangeira, e com dois dólares conseguíamos viver bem por uma semana. – Caramba! Ele não conseguia imaginar a avó grisalha tocando piano em uma boate em troca de gorjetas. Sua irmã entrou na sala. Lili era quase três anos mais nova do que Walli e ultimamente ele não sabia muito bem como tratá-la. Até onde sua memória alcançava, ela sempre tinha sido uma chata, como um menino mais novo, só que ainda mais boba. Agora, porém, havia se tornado mais sensata e, para complicar mais as coisas, algumas de suas amigas já tinham seios. Ele virou as costas para o piano e pegou o violão. Havia comprado o instrumento um ano antes, em uma loja de penhores de Berlim Ocidental, provavelmente empenhado por algum soldado americano em troca de um empréstimo jamais quitado. Era da marca Martin e, embora tivesse sido barato, Walli o considerava um instrumento muito bom. Imaginou que nem o penhorista nem o soldado tinham se dado conta de seu valor. – Escute só – falou para Lili, e começou a cantar uma música das Bahamas chamada “All My Trials”, com letra em inglês. Ele a escutara em estações de rádio ocidentais, pois a canção era apreciada por grupos de folk americanos. Os acordes menores a tornavam melancólica e ele gostou do acompanhamento dedilhado triste que tinha inventado. Quando terminou de tocar, sua avó Maud olhou por cima do jornal e disse, em inglês:
– Walli querido, seu sotaque é uma lástima. – Desculpe. Ela tornou a passar para o alemão: – Mas você canta bem. – Obrigado. – Ele se virou para Lili. – O que achou da música? – Meio triste – respondeu a menina. – Talvez goste mais depois de escutar algumas vezes. – Não adianta. Quero tocá-la hoje à noite no Minnesänger. Era um clube de folk que ficava perto da Kurfürstendamm, na parte ocidental de Berlim. O nome significava “trovador” em alemão. Lili ficou admirada. – Você vai tocar no Minnesänger? – Hoje vai ser uma noite especial: eles vão fazer um concurso, qualquer um pode tocar. O vencedor ganha a oportunidade de se apresentar regularmente. – Não sabia que os clubes faziam isso. – Em geral, não fazem. É só hoje. – Você não precisa ter mais idade para entrar em um lugar desses? – perguntou sua avó Maud. – Preciso, mas já entrei. – Walli parece mais velho do que é – disse Lili. – Hum. – Você nunca cantou em público – continuou sua irmã. – Está nervoso? – Muito. – Deveria tocar alguma coisa mais alegre. – Acho que você tem razão. – Que tal “This Land is Your Land”? Essa eu adoro. Walli tocou a música, e Lili o acompanhou na letra. Enquanto eles cantavam, sua irmã mais velha, Rebecca, entrou na sala. Walli idolatrava Rebecca. Depois da guerra, quando seu pai e sua mãe tinham de trabalhar feito loucos dia e noite para alimentar a família, ela muitas vezes ficara cuidando de Walli e Lili. Era como uma segunda mãe, só que menos rígida. E como era corajosa! Assombrado, ele a vira arremessar a maquete de fósforos do marido pela janela. Walli nunca tinha gostado de Hans e em seu íntimo estava feliz por ele ter saído de casa. Os vizinhos não falavam em outra coisa: como Rebecca, sem saber, havia se casado com um agente da Stasi. O fato havia aumentado o prestígio de Walli na escola; antes disso, ninguém imaginava que a família Franck tivesse algo de especial. As meninas, sobretudo, ficavam fascinadas ao pensar que tudo o que fora dito e feito dentro daquela casa tinha sido relatado à polícia durante quase um ano. Embora Rebecca fosse sua irmã, Walli via muito bem que ela era deslumbrante. Tinha um
corpo espetacular e um rosto encantador que expressava ao mesmo tempo bondade e força. Agora, porém, reparou que ela estava com cara de enterro. Parou de tocar e perguntou: – O que houve? – Fui demitida. Sua avó Maud largou o jornal que estava lendo. – Isso é loucura! – exclamou Walli. – Os meninos da sua escola dizem que você é a melhor professora! – Eu sei. – Por que mandaram você embora, então? – Acho que foi a vingança de Hans. Walli recordou a reação do ex-cunhado ao ver sua maquete espatifada e os milhares de palitos de fósforo espalhados pela calçada molhada. “Você vai se arrepender”, gritara ele, olhando para cima através da chuva. Walli tinha considerado aquilo uma bravata, mas bastava pensar por um instante para entender que um agente da polícia secreta era poderoso o suficiente para levar a cabo uma ameaça desse tipo. “Você e a sua família”, gritara Hans, o que também incluía Walli na maldição. O rapaz estremeceu. – Eles não estão desesperados atrás de professores? – perguntou Maud. – Bernd Held está arrancando os cabelos – respondeu Rebecca. – Mas recebeu ordens superiores. – O que você vai fazer? – quis saber Lili. – Arrumar outro emprego. Não deve ser complicado. Bernd me deu uma carta de referência excelente. E como muitos professores se mudaram para o Ocidente, todas as escolas da Alemanha Oriental estão com o quadro desfalcado. – Você deveria se mudar para o Ocidente – comentou Lili. – Todos nós deveríamos nos mudar para o Ocidente – disse Walli. – Mamãe não quer e vocês sabem – falou Rebecca. – Ela diz que precisamos resolver nossos problemas, não fugir deles. Foi quando seu pai entrou na sala, vestido com um terno azul-escuro de três peças antiquado, porém elegante. – Boa noite, Werner querido – disse Maud. – Rebecca precisa de uma bebida. Ela foi demitida. A sogra sugeria com frequência que alguém precisava de uma bebida. Assim ela também podia beber. – Eu sei o que aconteceu com Rebecca – respondeu Werner. – Nós já conversamos. Ele estava de mau humor; para falar rispidamente com Maud, tinha de estar, pois nutria amor e respeito por ela. Walli se perguntou o que teria acontecido para deixar o pai chateado. Não demorou a descobrir. – Walli, venha ao meu escritório – disse Werner. – Quero dar uma palavrinha com você. – Ele atravessou a porta dupla que conduzia a uma sala íntima menor, usada como seu
escritório. Walli o seguiu. Werner sentou-se atrás da escrivaninha, e Walli entendeu que deveria permanecer em pé. – Um mês atrás nós tivemos uma conversa sobre cigarro – começou Werner. Walli sentiu-se imediatamente culpado. Tinha começado a fumar para parecer mais velho, mas pegara gosto e agora estava viciado. – Você prometeu parar – falou Werner. Na opinião de Walli, o pai não tinha nada a ver com o fato de ele fumar ou não. – Parou? – Parei – mentiu Walli. – Não sabe que deixa cheiro? – Acho que sei, sim. – Senti o cheiro assim que você entrou na sala. Walli se sentiu um bobo. Fora pego mentindo feito uma criança. Aquilo não aumentou em nada sua simpatia pelo pai. – Portanto, sei que você não parou. – Então por que perguntou? – Detestou o tom petulante da própria voz. – Na esperança de você me dizer a verdade. – Você esperava me pegar mentindo, isso sim. – Pode pensar assim, se quiser. Imagino que esteja com um maço no bolso agora mesmo. – Sim. – Ponha em cima da minha mesa. Walli tirou o maço de cigarros do bolso da calça e, irritado, jogou-o em cima da escrivaninha. Werner pegou-o e o pôs casualmente dentro de uma gaveta. Era um maço de Lucky Strike, não da marca alemã-oriental muito pior chamada “f6”, e além disso estava quase cheio. – Você vai passar todas as noites em casa durante um mês – declarou Werner. – Pelo menos assim não vai frequentar bares nos quais as pessoas tocam banjo e fumam o tempo todo. O pânico fez o estômago de Walli se contrair. Ele lutou para se manter calmo e racional. – Não é banjo, é violão. E não tem como eu ficar em casa durante um mês. – Não seja ridículo. Você vai me obedecer e pronto. – Está bem – disse Walli, desesperado. – Mas não a partir de hoje. – A partir de agora. – Mas hoje à noite eu tenho que ir ao Minnesänger! – É exatamente esse o tipo de lugar do qual quero afastá-lo. O velho era impossível! – Eu fico em casa todas as noites durante um mês a partir de amanhã, está bem? – Seu castigo não vai ser adaptado para se adequar aos seus planos. Seria contraproducente. O objetivo do castigo é atrapalhar a sua vida. Com o humor de seu pai nessa noite, seria impossível demovê-lo da decisão, mas Walli, louco de tanta frustração, tentou mesmo assim:
– Você não está entendendo! Hoje vou participar de um concurso no Minnesänger... é uma oportunidade única. – Eu não vou adiar seu castigo para permitir que você toque banjo! – É violão, seu velho idiota! Violão! – Walli saiu batendo o pé. As três mulheres na sala ao lado evidentemente tinham escutado tudo e o encararam quando ele entrou. – Ai, Walli... – disse Rebecca. O rapaz pegou seu violão e saiu da sala. Antes de chegar ao térreo, não tinha plano algum, apenas raiva; assim que viu a porta da frente, porém, soube o que tinha de fazer. Levando o instrumento, saiu da casa e bateu a porta com tanta força que fez a estrutura tremer. Uma janela do primeiro andar se abriu e ele ouviu o pai gritar: – Volte aqui! Está me ouvindo? Volte agora mesmo ou vai ficar ainda mais encrencado. Walli continuou andando. No início sentiu apenas raiva, mas depois de algum tempo começou a ficar empolgado. Tinha desafiado o pai e chegara a chamá-lo de velho idiota! Com passos saltitantes, seguiu na direção oeste. No entanto, sua euforia logo passou e ele começou a se perguntar que consequências teria de enfrentar. Seu pai levava a desobediência muito a sério. Mandava nos filhos e nos empregados, e esperava que todos o acatassem. Mas o que ele poderia fazer? Havia dois ou três anos que Walli era grande demais para apanhar. Nesse dia, seu pai tentara mantê-lo dentro de casa como se esta fosse uma prisão, mas não conseguira. Às vezes Werner ameaçava tirá-lo da escola e fazê-lo trabalhar na fábrica, mas o rapaz considerava isso uma ameaça vazia: o pai não se sentiria à vontade com um adolescente ressentido perambulando por sua preciosa fábrica. Mesmo assim, tinha a sensação de que o coroa acabaria pensando em alguma coisa. A rua em que ele estava saía da parte oriental de Berlim e entrava na parte ocidental em um cruzamento. Encostados em um canto, três Vopos fumavam. Tinham autorização para interpelar qualquer um que quisesse cruzar aquela fronteira invisível. Não podiam abordar todo mundo, era impossível: milhares de pessoas passavam por ali todos os dias, entre elas vários Grenzgänger, berlinenses da parte oriental que trabalhavam na parte ocidental em troca de salários melhores pagos em valiosos marcos alemães. Embora fosse remunerado por lucro, e não por salário, o pai de Walli era um Grenzgänger. O próprio Walli atravessava a fronteira pelo menos uma vez por semana, em geral para ir com os amigos aos cinemas da parte ocidental, que passavam filmes americanos sensuais e violentos, bem mais legais do que as fábulas moralizantes dos cinemas comunistas. Na prática, os Vopos paravam qualquer um que lhes chamasse a atenção. Famílias inteiras atravessando juntas, pais e filhos, quase com certeza eram interpeladas sob a suspeita de estarem tentando abandonar definitivamente a parte oriental, sobretudo se estivessem com bagagem. Os outros tipos que a polícia adorava importunar eram adolescentes, sobretudo se
vestidos com roupas ocidentais. Muitos rapazes da parte oriental de Berlim eram membros de gangues antiautoridade: a Gangue do Texas, a Gangue do Jeans, a Sociedade Apreciadora de Elvis Presley, entre outras. Eles odiavam a polícia, e a polícia os odiava também. Walli estava usando uma calça preta simples, camiseta branca e casaco quebra-vento bege. Bem estiloso, pensou, um pouco parecido com James Dean, mas não com o membro de alguma gangue. O violão talvez chamasse atenção, porém. Era, por excelência, o símbolo do que a polícia classificava como “incultura americana” – pior ainda do que um gibi do SuperHomem. Atravessou a rua tomando cuidado para não olhar na direção dos Vopos. Com o rabo do olho, pensou ter visto um deles o encarando. Ninguém disse nada, no entanto, e ele passou para o Mundo Livre sem ser detido. Pegou um bonde no lado sul do parque até Ku’damm. A melhor coisa da parte ocidental de Berlim, pensou, era que todas as garotas usavam meias finas. Foi até o Clube Minnesänger, situado num subsolo de uma ruazinha lateral que saía de Ku’damm, onde vendiam cerveja aguada e linguiças. Chegou cedo, mas a casa já estava enchendo. Foi falar com o jovem proprietário do estabelecimento, Danni Hausmann, e inscreveu seu nome na lista de participantes do concurso. Comprou uma cerveja sem ninguém perguntar sua idade. Muitos rapazes como ele carregavam violões, além de várias meninas e algumas pessoas mais velhas. Uma hora mais tarde, o concurso começou. Cada um tocava duas músicas. Alguns dos participantes eram novatos sem talento algum que só dedilhavam acordes simples, mas, para consternação de Walli, havia vários violonistas mais experientes do que ele. Quase todos se pareciam com os artistas americanos que imitavam. Três homens vestidos igual ao Kingston Trio cantaram “Tom Dooley”, e uma moça de longos cabelos negros tocou “The House of the Rising Sun” no violão igualzinho a Joan Baez, recebendo fortes aplausos e vivas animados. Um casal mais velho, ambos de calça de veludo, levantou-se e cantou uma canção sobre o mundo rural chamada “Im Märzen der Bauer”, acompanhada por um acordeão. Era uma música folk, mas não do tipo que aquela plateia queria. Eles receberam aplausos irônicos, mas estavam fora de moda. Enquanto esperava impacientemente a sua vez, Walli foi abordado por uma menina bonita. Acontecia muito. Ele achava o próprio rosto esquisito, com malares saltados e olhos amendoados, quase como se fosse metade japonês, mas muitas garotas o achavam bonito. A moça se apresentou como Karolin. Parecia um ou dois anos mais velha do que ele. Seus cabelos louros compridos repartidos ao meio emolduravam um rosto oval. No início, Walli pensou que ela fosse igual a todas as outras meninas fãs de folk, mas Karolin tinha um sorriso largo que fez seu coração bater descompassado. – Eu ia entrar no concurso com meu irmão ao violão, mas ele me deixou na mão... Você por acaso aceitaria fazer dupla comigo? O primeiro impulso de Walli foi dizer não. Já tinha um repertório de canções e nenhuma
delas era um dueto. Mas Karolin era um encanto e ele queria um motivo para continuar conversando com ela. – A gente precisaria ensaiar... – respondeu, em tom de dúvida. – Poderíamos ir lá fora. Em que músicas você estava pensando? – Eu ia tocar “All My Trials”, depois “This Land Is Your Land”. – Que tal “Noch Einen Tanz”? Aquela música não fazia parte do repertório de Walli, mas ele conhecia a melodia e era fácil de tocar. – Nunca pensei em cantar uma música cômica – falou. – O público iria adorar. Você pode cantar a parte do homem, quando ele diz para ela ir para casa cuidar do marido doente, e aí eu cantaria “só mais uma dança”, e faríamos juntos a última estrofe. – Vamos tentar. Eles saíram. Era início de verão e ainda estava claro. Sentaram-se na soleira de uma porta e ensaiaram a canção. Suas vozes soavam bem juntas e Walli improvisou uma harmonia na última estrofe. A voz de Karolin era um puro contralto que poderia ter uma sonoridade comovente, achou ele, e sugeriu que seu segundo número poderia ser uma canção triste, só para variar. Ela recusou “All My Trials”, deprimente demais, mas gostou de “Nobody’s Fault But Mine”, um spiritual bem lento. Quando eles ensaiaram, Walli sentiu os pelos da nuca se arrepiarem. Um soldado americano entrou no clube, sorriu para eles e disse, em inglês: – Olhem só, os Bobbsey Twins! Karolin riu e disse a Walli: – Acho que nós somos mesmo parecidos... cabelos louros, olhos verdes. Quem são os Bobbsey Twins? Walli não tinha reparado na cor dos olhos dela, e ficou lisonjeado que ela soubesse a dos seus. – Nunca ouvi falar – respondeu. – Mas é um bom nome para uma dupla. Que nem os Everly Brothers. – A gente precisa de um nome? – Se ganhar, sim. – Tudo bem. Vamos entrar. Nossa vez já deve estar chegando. – Mais uma coisa – disse ela. – Na hora de “Noch Einen Tanz”, seria bom a gente se olhar de vez em quando e sorrir. – Tudo bem. – Quase como se a gente fosse namorado, sabe? Vai ficar legal no palco. – Claro. – Não seria difícil sorrir para Karolin como se ela fosse sua namorada. Lá dentro, uma menina loura cantava “Freight Train” com um violão. Não era tão bonita quanto Karolin, mas tinha uma beleza mais óbvia. Depois dela, um violonista virtuose tocou
um blues dedilhado complexo. Então Danni Hausmann chamou o nome de Walli. Ele ficou tenso ao encarar a plateia. A maioria dos violonistas tinha estilosas bandoleiras de couro, mas ele nunca se dera ao trabalho de arrumar uma, e o instrumento pendia de seu pescoço por um pedaço de barbante. Nessa hora, desejou ter uma bandoleira. – Boa noite – disse Karolin. – Nós somos os Bobbsey Twins. Walli tocou um acorde e começou a cantar, e descobriu que não estava mais ligando para o fato de não ter bandoleira. Como a música era uma valsa, tocou em ritmo vivaz. Karolin fingiu ser uma mulher de vida fácil, e Walli respondeu se transformando em um rígido tenente prussiano. A plateia riu. Foi então que algo aconteceu com Walli. Devia haver apenas umas cem pessoas no recinto e o barulho que elas fizeram não passou de uma risadinha coletiva de apreciação, mas aquilo lhe causou uma sensação que ele nunca havia experimentado antes, um pouco parecida com a da primeira tragada de um cigarro. A plateia riu várias outras vezes, e no final da canção aplaudiu bem alto. Walli gostou disso mais ainda. – Eles adoraram a gente! – sussurrou Karolin, animada. Walli começou a tocar “Nobody’s Fault But Mine”, puxando as cordas de aço com as unhas para acentuar a dramaticidade das sétimas plangentes, e a multidão se calou. Karolin mudou de atitude, tornando-se uma mulher caída em desgraça e tomada pelo desespero. Walli observou a plateia: ninguém conversava. Uma mulher ficou com os olhos marejados, e ele imaginou se ela teria passado pelas coisas sobre as quais falava a canção. A concentração silenciosa do público era ainda melhor do que suas risadas. No final da interpretação, todos gritaram e pediram bis. Como a regra era duas músicas por dupla, Walli e Karolin desceram do palco e ignoraram os pedidos, mas Hausmann lhes disse para voltar. Em pânico, eles se entreolharam; não tinham ensaiado uma terceira canção. Então Walli perguntou: – Você conhece “This Land Is Your Land”? Karolin assentiu. O público cantou junto, obrigando Karolin a aumentar o tom de voz, e Walli ficou surpreso com a sua potência. Ele cantou uma harmonia aguda, e suas vozes se ergueram acima do barulho da plateia. Quando por fim deixaram o palco, Walli estava empolgadíssimo. Os olhos de Karolin brilhavam. – A gente se saiu muito bem! – comentou ela. – Você é melhor do que o meu irmão. – Você tem um cigarro? – perguntou Walli. Fumando, eles assistiram a mais uma hora de concurso. – Acho que fomos os melhores – disse Walli. Karolin se mostrou mais cautelosa.
– Eles gostaram da loura que cantou “Freight Train”. Por fim, o resultado saiu. Os Bobbsey Twins ficaram em segundo lugar. A vencedora foi a sósia de Joan Baez. – Ela mal sabia tocar! – reclamou Walli, zangado. – Mas as pessoas adoram Joan Baez – comentou Karolin, mais filosófica. A casa começou a esvaziar e os dois se encaminharam para a porta. Walli estava desanimado. Quando saíam, Danni Hausmann os deteve. Tinha uns 20 e poucos anos e usava roupas modernas e casuais: suéter preto de gola rulê e calça jeans. – Vocês poderiam tocar meia hora segunda que vem? Walli ficou espantado demais para reagir, mas Karolin respondeu na hora: – Claro! – Mas quem ganhou foi a dublê da Joan Baez – disse Walli, e imediatamente pensou: “Por que estou discutindo?” – Vocês dois parecem capazes de alegrar uma plateia por mais de um ou dois números – retrucou Danni. – Têm músicas suficientes para um set? Walli hesitou outra vez, e novamente quem respondeu foi Karolin: – Na segunda-feira teremos – garantiu. Walli lembrou que o pai planejava mantê-lo em casa à noite durante um mês, de castigo, mas resolveu não mencionar isso. – Obrigado – falou Danni. – Vocês vão tocar cedo, às oito e meia. Cheguem às sete e meia. Ao saírem para a rua agora iluminada pela luz do poste, os dois estavam nas nuvens. Walli não tinha a menor ideia do que faria em relação ao pai, mas estava otimista de que tudo daria certo. No fim das contas, Karolin também morava na parte oriental de Berlim. Eles pegaram um ônibus e começaram a conversar sobre os números que apresentariam na semana seguinte. Conheciam várias das mesmas canções folk. Saltaram do ônibus e tomaram o rumo do parque. Karolin franziu a testa e falou: – O cara ali atrás. Walli olhou para trás. Um homem de boina caminhava uns 30, 40 metros atrás deles, fumando. – O que tem ele? – Não estava lá no Minnesänger? Apesar de Walli encará-lo, o homem não cruzou olhares com ele. – Acho que não – respondeu. – Você gosta dos Everly Brothers? – Gosto! Enquanto caminhavam, Walli começou a tocar “All I Have to Do Is Dream” no violão pendurado no pescoço pelo barbante. Animada, Karolin se juntou a ele. Os dois atravessaram o parque cantando. Walli tocou “Back in the USA”, o sucesso de Chuck Berry.
Estavam entoando a plenos pulmões o refrão “I’m so glad I’m living in the USA” quando Karolin parou de repente. – Shh! – sussurrou ela. Walli percebeu que tinham chegado à fronteira e viu três Vopos debaixo de um poste olhando para eles com cara de mau. Calou-se na mesma hora e torceu para que tivessem parado de cantar a tempo. Um dos policiais era sargento e olhou para trás de Walli. Quando o rapaz se virou, viu o homem da boina menear de leve a cabeça. O sargento deu um passo em direção ao casal. – Documentos – pediu. O homem da boina começou a falar em um walkie-talkie. Walli franziu a testa. Karolin parecia estar certa: eles tinham sido seguidos. Ocorreu-lhe que Hans talvez estivesse por trás daquilo. Será que seu ex-cunhado podia ser tão mesquinho e vingativo? Sim, podia. O sargento examinou a identidade de Walli e comentou: – Você tem só 15 anos. Não deveria estar na rua a esta hora. Walli mordeu a língua. De nada adiantava discutir com a polícia. Depois de olhar a identidade de Karolin, o sargento prosseguiu: – E você tem 17! O que está fazendo com esse pirralho? O comentário fez Walli se lembrar da briga com o pai, e ele respondeu, zangado: – Eu não sou pirralho. O sargento o ignorou. – Você poderia sair comigo – disse ele para Karolin. – Eu sou um homem de verdade. Os dois outros Vopos deram risadas de aprovação. Karolin não respondeu, mas o sargento insistiu. – Que tal? – O senhor deve estar maluco – falou Karolin baixinho. – Que falta de educação – disse ele, ofendido. Walli já tinha reparado nisso em relação a alguns homens. Quando uma garota lhes dava um fora, eles ficavam indignados, mas qualquer outra reação era considerada um incentivo. Como as mulheres deviam agir, então? – Devolva minha identidade, por favor – pediu Karolin. – Você é virgem? – perguntou o sargento. Karolin enrubesceu. Os dois outros policiais tornaram a rir. – Deviam pôr isso nas identidades das mulheres – disse o sargento. – Virgem ou não. – Pare com isso – falou Walli. – Eu sou delicado com as virgens. – Esse uniforme não lhe dá o direito de importunar garotas! – protestou Walli, indignado. – Ah, não? – O sargento não devolveu suas identidades.
Um Trabant 500 bege se aproximou e Hans Hoffmann saltou do carro. Walli começou a ficar com medo. Como podia ter se metido numa encrenca tão grande? Tudo o que tinha feito fora cantar no parque. Hans se aproximou e disse: – Deixe-me ver esse troço aí em volta do seu pescoço. Walli tomou coragem e retrucou: – Por quê? – Porque desconfio de que está sendo usado para contrabandear propaganda capitalistaimperialista para a República Democrática da Alemanha. Me dê isso aqui. O violão era tão precioso que, mesmo assustado, Walli não o entregou. – E se eu não der? Vou ser preso? O sargento esfregou as articulações da mão direita com a palma da esquerda. – No fim das contas, sim – respondeu Hans. A coragem de Walli se esgotou. Ele passou o barbante por cima da cabeça e entregou o violão. Hans segurou o instrumento como se fosse tocá-lo, bateu nas cordas e cantou, em inglês: – You ain’t nothing but a hound dog. Os Vopos deram risadas histéricas. Aparentemente, até a polícia ouvia música pop no rádio. Hans enfiou a mão sob as cordas do violão e tentou tatear dentro da boca. – Cuidado! – exclamou Walli. A primeira corda de cima, o mi, se partiu com um estalo. – Isso é um instrumento delicado! – protestou Walli, desesperado. As cordas impediam Hans de enfiar a mão lá dentro. – Alguém tem uma faca? – pediu ele. O sargento pôs a mão dentro do casaco e sacou uma faca de lâmina larga; Walli tinha certeza de que aquilo não fazia parte de seu equipamento-padrão. Hans tentou usar a faca para cortar as cordas, mas eram mais duras do que ele imaginara. Conseguiu arrebentar o si e o lá, mas não foi capaz de cortar as mais grossas. – Não tem nada aí dentro – disse Walli em tom de súplica. – Dá para sentir pelo peso! Hans olhou para ele, sorriu e então desceu a faca com força, com a ponta virada para baixo, bem no tampo do violão, perto do cavalete. A lâmina penetrou a madeira de uma vez só, e Walli deixou escapar um grito de dor. Satisfeito com essa reação, Hans repetiu o gesto, abrindo vários furos no violão. Com a superfície enfraquecida, a tensão das cordas fez o cavalete e a madeira em volta se soltarem do corpo do instrumento. Hans então acabou de arrancá-lo, revelando o interior parecido com um caixão vazio. – Nada de propaganda – falou. – Parabéns... você é inocente. Entregou a Walli o violão destruído.
Com um sorriso forçado, o sargento devolveu as carteiras de identidade. Karolin segurou Walli pelo braço e o afastou dos outros. – Venha – falou em voz baixa. – Vamos embora daqui. Walli deixou que ela o conduzisse. Mal conseguia ver para onde estava indo. Não conseguia parar de chorar.
CAPÍTULO QUATRO
George Jakes embarcou em um ônibus da Greyhound em Atlanta, Geórgia, em 14 de maio de 1961, um domingo. Era Dia das Mães. Ele estava com medo. Maria Summers estava sentada ao seu lado. Os dois sempre viajavam juntos. Aquilo havia se tornado um hábito; todos partiam do princípio que o lugar vazio ao lado de George estava reservado para Maria. Para disfarçar o nervosismo, ele puxou papo com ela: – Então, o que achou de Martin Luther King? King era o líder da Conferência da Liderança Cristã do Sul, um dos mais importantes grupos de direitos civis. Eles o haviam conhecido na noite anterior, durante um jantar em um dos restaurantes de Atlanta cujo proprietário era negro. – Ele é um homem fantástico – respondeu Maria. George não tinha tanta certeza. – Ele falou maravilhas sobre os Viajantes da Liberdade, mas não está aqui no ônibus com a gente. – Ponha-se no lugar dele – ponderou Maria. – Ele é o líder de outro grupo de direitos civis. Um general não pode virar soldado em outro regimento que não o seu. Ele não tinha visto a questão sob esse viés. Como Maria era inteligente! George já estava meio apaixonado. Vivia desesperado por uma oportunidade de ficar a sós com ela, mas as pessoas que hospedavam os Viajantes eram cidadãos negros confiáveis e respeitáveis, muitos deles cristãos praticantes, que nunca teriam permitido que seus quartos de hóspedes fossem usados para dar uns amassos. E Maria, por mais atraente que fosse, não fazia nada a não ser sentar-se ao seu lado, conversar com ele e rir das suas piadas. Nunca fazia os pequenos gestos que sugeriam que uma mulher queria ser mais do que amiga: não tocava seu braço, não segurava sua mão ao descer do ônibus nem pressionava o corpo junto ao dele em uma multidão. Ela não flertava. Talvez até ainda fosse virgem, mesmo aos 25 anos. – Você passou um tempão conversando com King – comentou ele. – Se ele não fosse pastor, eu diria que estava me dando uma cantada – disse ela. George não soube muito bem como reagir a esse comentário. Não ficaria surpreso se um pastor desse uma cantada em uma moça charmosa como Maria, mas a considerava ingênua em relação aos homens. – Também conversei um pouco com ele. – E o que ele falou? George hesitou. O que o deixara com medo tinham sido justamente as palavras de King. Decidiu lhe contar mesmo assim: ela tinha o direito de saber.
– Que não vamos conseguir passar pelo Alabama. Maria empalideceu. – Foi isso mesmo que ele disse? – Exatamente isso. Agora os dois estavam com medo. O Greyhound se afastou da rodoviária. Nos primeiros dias, George temeu que a Viagem da Liberdade fosse ser pacífica demais. Os passageiros brancos dos ônibus não reagiram aos negros e negras sentados nos lugares errados, e às vezes até cantavam com eles suas canções. Nada aconteceu quando os Viajantes desafiaram placas de SÓ BRANCOS e SÓ DE COR nas rodoviárias. Algumas cidades tinham até passado tinta sobre as placas. George temeu que os segregacionistas tivessem bolado a estratégia perfeita. Não havia confusão nem publicidade, e os Viajantes de cor eram servidos educadamente nos restaurantes para brancos. Toda noite, desciam dos ônibus e faziam reuniões sem serem importunados, em geral nas igrejas, depois pernoitavam na casa de simpatizantes. Mas George tinha certeza de que, assim que eles saíssem de cada cidade, as placas seriam recolocadas e a segregação voltaria, e a Viagem da Liberdade teria sido uma perda de tempo. A ironia chamava a atenção. Até onde sua memória alcançava, George se magoara e se enfurecera com a constante mensagem – às vezes implícita, mas muitas vezes dita em voz alta – de que ele era inferior. Não fazia diferença ser mais inteligente do que 99% dos americanos brancos. Tampouco ser trabalhador, educado e bem vestido. Ele era sempre menosprezado por uma gente branca feia que era burra ou preguiçosa demais para fazer qualquer coisa mais difícil do que servir bebidas ou abastecer automóveis. Não podia entrar em uma loja de departamentos, sentar-se em um restaurante ou se candidatar a um emprego sem se perguntar se iriam ignorá-lo, pedir-lhe que saísse ou rejeitá-lo por causa da sua cor. Essa situação lhe causava um ressentimento insuportável. Mas agora, paradoxalmente, estava desapontado por isso não estar acontecendo. Enquanto isso, a Casa Branca vacilava. No terceiro dia da Viagem, o secretário de Justiça Robert Kennedy tinha feito um discurso na Universidade da Geórgia prometendo aplicar os direitos civis no Sul. Então, três dias mais tarde, o presidente – seu irmão – dera um passo atrás, retirando o apoio a dois projetos de lei sobre direitos civis. Seria assim que os segregacionistas iriam vencer, perguntou-se George? Evitando o confronto, depois tocando a vida como antes? Não era. A paz durou apenas quatro dias. No quinto dia da Viagem, um dos manifestantes foi preso por insistir no direito de ter seus sapatos engraxados. A violência começou no sexto. A vítima foi John Lewis, o estudante de teologia. Atacado por brutamontes em um banheiro para brancos de Rock Hill, na Carolina do Sul, Lewis deixou que os homens o socassem e
chutassem sem reagir. George não viu o incidente, o que provavelmente foi uma coisa boa, pois não tinha certeza se teria conseguido demonstrar o mesmo autocontrole do outro rapaz, digno de Gandhi. Nos jornais do dia seguinte, leu notas curtas sobre a agressão, mas decepcionou-se ao ver a notícia ofuscada pelo voo de foguete de Alan Shepard, o primeiro americano no espaço. Que importância tem isso?, pensou, amargurado. O cosmonauta soviético Yuri Gagarin tinha sido o primeiro homem a ir ao espaço, menos de um mês antes. Os russos chegaram na nossa frente. Um americano branco pode flutuar na órbita da Terra, mas um americano negro não pode entrar em um toalete. Então, em Atlanta, os Viajantes foram aplaudidos por uma multidão de boas-vindas ao descer do ônibus, e George tornou a ficar animado. Mas Atlanta ficava na Geórgia, e agora eles estavam a caminho do Alabama. – Por que King falou que a gente não iria passar pelo Alabama? – perguntou Maria. – Corre um boato de que a Ku Klux Klan está planejando alguma coisa em Birmingham – respondeu George, soturno. – Parece que o FBI sabe, mas não fez nada para impedir. – E a polícia local? – A polícia faz parte da droga da KKK. – E aqueles dois ali? – Com um gesto da cabeça, Maria indicou os assentos do outro lado do corredor, na fila atrás deles. George olhou por cima do ombro e viu dois brancos fortões sentados juntos. – O que tem? – Não acha que eles têm cara de agentes? Ele entendeu o que ela estava falando. – Acha que são do FBI? – As roupas deles são vagabundas demais para o FBI. Meu palpite é que são agentes da polícia rodoviária do Alabama, disfarçados. – Como é que você ficou tão inteligente? – perguntou George, impressionado. – Minha mãe me fez comer verdura. E meu pai é advogado em Chicago, capital norteamericana dos gângsteres. – E o que você acha que esses dois estão fazendo? – Não tenho certeza, mas não acho que estejam aqui para defender nossos direitos civis, e você? George olhou pela janela e viu uma placa que dizia AQUI COMEÇA O ALABAMA. Olhou para o pulso. Era uma da tarde. O sol brilhava no céu azul. Que lindo dia para morrer, pensou. Maria queria trabalhar com política ou no governo. – Os manifestantes podem ter um grande impacto, mas no fim das contas quem transforma o mundo são os governos – disse ela. George refletiu, pensando se concordava. Maria tinha se candidatado a um emprego na assessoria de imprensa da Casa Branca e sido chamada para a entrevista, mas não conseguira
a vaga. – Lá em Washington eles não contratam muitos advogados negros – continuou ela, com ar tristonho. – Provavelmente vou ficar em Chicago e trabalhar no escritório do meu pai. Sentada ao lado de George do outro lado do corredor estava uma mulher branca de meiaidade, sobretudo e chapéu, que segurava no colo uma grande bolsa de plástico branco. George sorriu para ela e disse: – Que dia lindo para andar de ônibus. – Vou visitar minha filha em Birmingham – falou a mulher, embora ele não tivesse perguntado. – Que ótimo. George Jakes, prazer. – Cora Jones. Sra. Jones. Minha filha vai ter neném daqui a uma semana. – O primeiro? – Terceiro. – Bem, se me permite dizer, a senhora parece jovem demais para ser avó. – Tenho 49 anos – disse ela, dengosa. – Eu nunca teria adivinhado! Outro Greyhound vindo no sentido contrário piscou o farol e o ônibus dos Viajantes diminuiu a velocidade. Um homem branco se aproximou da janela do motorista e George o escutou dizer: – Tem um povo reunido lá na rodoviária de Anniston. – O motorista respondeu alguma coisa que George não ouviu. – Tomem cuidado – disse o homem à janela. O ônibus seguiu viagem. – Como assim, um povo reunido? – indagou Maria, aflita. – Podem ser vinte pessoas ou mil. Pode ser um comitê de boas-vindas ou uma multidão enfurecida. Por que ele não deu mais detalhes? George pensou que a irritação dela devia esconder o medo. Lembrou-se das palavras da mãe: “Estou com tanto medo de que você morra!” Algumas pessoas no movimento se diziam prontas para morrer pela causa da liberdade, mas George não tinha certeza se queria se tornar um mártir. Havia muitas outras coisas que ainda pretendia fazer, como, por exemplo, transar com Maria. Um minuto depois, eles entraram em Anniston, uma cidadezinha igual a qualquer outra do Sul: construções baixas, ruas em ângulo reto, atmosfera quente e empoeirada. Os meios-fios estavam cheios de gente, como em um desfile. Muitos estavam arrumados, as mulheres de chapéu, as crianças de banho tomado; decerto tinham ido à igreja. – O que eles esperam ver, pessoas com chifres? – comentou George. – Estamos aqui, pessoal. Verdadeiros negros do Norte, de sapato e tudo. – Falou como se estivesse se dirigindo às pessoas lá fora, embora apenas Maria pudesse escutá-lo. – Viemos levar embora suas armas e ensinar a vocês o comunismo. Onde as garotas brancas vão nadar? Maria deu uma risadinha.
– Se eles pudessem ouvi-lo, não saberiam que você está brincando. Na verdade, ele não estava brincando; era mais como se estivesse assobiando ao passar por um cemitério. Estava tentando ignorar o medo que contraía suas entranhas. O ônibus virou para entrar na rodoviária estranhamente deserta. Os prédios pareciam fechados e trancados. George achou aquilo sinistro. O motorista abriu as portas do ônibus. George não viu de onde os homens saíram, mas, de repente, o veículo foi cercado. Eram todos brancos, alguns de roupa de trabalho, outros usando ternos de domingo. Seguravam tacos de beisebol, canos de metal e pedaços de correntes de ferro. E gritavam. A maior parte do que diziam era uma algaravia incompreensível, mas George ouviu algumas palavras de ódio, entre elas Sieg heil! Levantou-se, e seu primeiro impulso foi fechar a porta do ônibus, mas os dois homens que Maria havia identificado como policiais rodoviários foram mais rápidos e as fecharam com um baque. Talvez eles estejam aqui para nos defender, pensou George; ou talvez estejam apenas defendendo a si mesmos. Olhou pelas janelas em todas as direções. Não havia nenhum policial do lado de fora. Como era possível a polícia não saber que uma turba armada tinha se reunido na rodoviária? Ela devia estar mancomunada com a KKK. Não era nenhuma surpresa. Um segundo depois, os homens atacaram o ônibus com suas armas. Uma cacofonia assustadora ecoou quando correntes e pés de cabra amassaram a carroceria. Vidraças se estilhaçaram, e a Sra. Jones deu um grito. O motorista tornou a ligar o ônibus, mas um dos homens lá fora se deitou na frente das rodas. George pensou que o motorista talvez fosse passar por cima do sujeito, mas ele parou. Uma pedra voou pela janela e estraçalhou o vidro, e George sentiu uma agulhada na bochecha, como a picada de uma abelha: tinha sido atingido por um estilhaço. Sentada junto a uma janela, Maria estava correndo perigo. George a pegou pelo braço e a puxou na sua direção. – Ajoelhe-se no corredor! – gritou. Um homem de sorriso arreganhado enfiou a mão pela janela ao lado da Sra. Jones; usava um soco-inglês. – Abaixe-se aqui comigo! – gritou Maria, puxando a Sra. Jones e envolvendo a mulher mais velha com os braços em um gesto protetor. Os gritos ficaram mais altos. – Comunistas! – gritavam os homens. – Covardes! – Abaixe-se, George! – falou Maria. Mas George não conseguiu se forçar a se acovardar diante daqueles arruaceiros. De repente, o barulho diminuiu. As batidas nas laterais do ônibus cessaram e não se ouviu mais nenhum vidro quebrando. George viu um policial. Já não era sem tempo, pensou.
Apesar de ter um cassetete na mão, o policial conversava amigavelmente com o homem do soco-inglês. Então George viu três outros policiais. Eles haviam acalmado a multidão, mas, para sua indignação, não estavam fazendo mais nada. Agiam como se nenhum crime houvesse sido cometido. Conversavam casualmente com os arruaceiros, que pareciam ser seus amigos. Sentados em seus lugares, os dois policiais rodoviários pareciam atônitos. George imaginou que sua missão fosse espionar os Viajantes e que não imaginavam que se tornariam vítimas da violência de uma turba armada. Tinham sido forçados a ficar do lado dos Viajantes para se defender. Talvez aprendessem a ver as coisas sob um novo ponto de vista. O ônibus andou. Pelo para-brisa, George viu que um policial mandava os homens saírem da frente enquanto outro acenava para o motorista seguir. Do lado de fora da rodoviária, um carro de polícia entrou na frente do ônibus e o conduziu pela rua até fora da cidade. George começou a se sentir melhor. – Acho que escapamos – falou. Maria se levantou; não parecia ferida. Pegou um lenço no bolso do paletó de George e limpou seu rosto delicadamente. O algodão branco ficou sujo de sangue. – Abriu um cortezinho bem feio – comentou ela. – Vou sobreviver. – Mas não vai mais ser tão bonito. – Eu sou bonito? – Antes era, mas agora... O instante de normalidade não durou. Ao olhar para trás, George viu uma longa fila de caminhonetes e carros seguindo o ônibus. Os veículos pareciam cheios de homens aos gritos. Ele soltou um grunhido. – Escapamos nada – falou. – Lá em Washington, antes de embarcarmos, vi você conversando com um rapaz branco – comentou Maria. – Joseph Hugo – disse George. – Ele estuda Direito em Harvard. Por quê? – Acho que eu o vi com aqueles homens lá atrás. – Joseph Hugo? Não. Ele está do nosso lado. Você deve estar enganada. Mas Hugo era do Alabama, lembrou George. – Ele tinha uns olhos azuis esbugalhados – observou Maria. – Se ele estiver com aqueles homens, isso quer dizer que passou todo esse tempo fingindo apoiar os direitos civis... e nos espionando. Ele não pode ser um dedo-duro. – Será que não? George tornou a olhar para trás. A escolta da polícia deu meia-volta no limite da cidade, mas os outros carros, não. Os homens nos veículos gritavam tão alto que era possível ouvi-los mesmo com o barulho de todos os motores.
Depois dos subúrbios, em um trecho comprido e deserto da Rodovia 202, dois automóveis ultrapassaram o ônibus e diminuíram a velocidade, obrigando o motorista a frear. Ele tentou ultrapassá-los, mas eles se moveram de um lado para outro da estrada para impedir a passagem. Pálida e trêmula, Cora Jones segurava a bolsa de plástico branco como se fosse uma boia salva-vidas. – Sinto muito termos envolvido a senhora nisso, Sra. Jones. – Eu também – retrucou ela. Os carros mais à frente finalmente abriram caminho, e o ônibus os ultrapassou. Mas o calvário não havia terminado: o comboio continuou a segui-los. George então ouviu um barulho de estalo conhecido. Quando o ônibus começou a ziguezaguear pela estrada, entendeu que era um pneu furado. O motorista parou junto a uma mercearia de beira de estrada cuja placa George pôde ler: Forsyth & Filho. O motorista saltou. George o ouviu dizer: – Dois pneus furados? Ele então entrou na loja, decerto para telefonar chamando ajuda. George estava tenso. Um pneu furado era só um acidente; dois eram uma emboscada. Estava certo: os carros do comboio estavam parando, e uma dúzia de homens brancos vestidos com seus ternos de domingo saltou, berrando injúrias e brandindo as armas qual selvagens em guerra. O ventre de George se contraiu outra vez quando ele os viu correr em direção ao ônibus com suas caras feias contorcidas de raiva, e ele entendeu por que os olhos de sua mãe tinham ficado marejados ao falar sobre os brancos do Sul. À frente do grupo vinha um adolescente, que ergueu um pé de cabra e estilhaçou alegremente uma janela. O homem logo atrás tentou entrar no ônibus. Um dos dois passageiros brancos fortões foi se postar no alto da escada e sacou um revólver, confirmando a teoria de Maria de que eram policiais rodoviários à paisana. O intruso recuou e o policial trancou a porta. George temeu que isso tivesse sido um erro. E se os Viajantes precisassem sair às pressas? Os homens lá fora começaram a balançar o ônibus como se tentassem virá-lo, sem parar de gritar: “Morte aos crioulos! Morte aos crioulos!” Passageiras gritavam. Maria se pendurou em George de um jeito que talvez tivesse lhe agradado caso ele não estivesse temendo pela própria vida. Do lado de fora, viu dois policiais rodoviários de uniforme se aproximarem e ficou mais esperançoso; para sua fúria, porém, eles nada fizeram para conter os agressores. George olhou para os dois agentes à paisana no ônibus: eles pareciam bobos e amedrontados. Estava claro que os uniformizados lá fora não sabiam sobre os colegas à paisana. Pelo visto, além de racista, a polícia rodoviária do Alabama era desorganizada. Desesperado, George olhou em volta à procura de algo que pudesse fazer para proteger Maria e a si mesmo. Descer do ônibus e sair correndo? Deitar no chão? Pegar a arma de um
dos policiais e atirar nos brancos? Todas essas possibilidades pareciam ainda piores do que não fazer nada. Furioso, encarou os dois policiais lá fora, que assistiam como se nada estivesse acontecendo. Eles eram da polícia, pelo amor de Deus! O que estavam fazendo? Se não eram capazes de aplicar a lei, que direito tinham de estar usando aquele uniforme? Foi então que viu Joseph Hugo. Não havia como se enganar: George conhecia muito bem aqueles olhos azuis esbugalhados. Hugo abordou um dos policiais e lhe disse alguma coisa, e os dois riram. Ele era mesmo um dedo-duro. Se eu sair desta vivo, pensou George, esse canalha vai se arrepender. Os homens do lado de fora gritaram para os Viajantes saírem. George ouviu alguém dizer: – Venham aqui receber o que merecem, seus amigos de crioulos! Isso o fez pensar que estaria mais seguro no ônibus. Mas não por muito tempo. Um dos integrantes da turba tinha voltado até seu carro e aberto o porta-malas, e agora corria em direção ao ônibus com alguma coisa acesa nas mãos. Atirou uma trouxa em chamas por uma das janelas estilhaçadas. Segundos depois, a trouxa explodiu em meio a uma fumaça cinza. Mas a arma não era apenas uma bomba de fumaça: também pôs fogo no estofamento dos bancos, e em poucos segundos espirais de fumaça preta e espessa começaram a sufocar os passageiros. – Tem algum ar aí na frente? – gritou uma mulher. Do lado de fora, George ouvia gritos: – Fogo nos crioulos! Vamos fritar os crioulos! Todos tentaram sair pela porta. O corredor estava abarrotado de pessoas tossindo. Algumas conseguiam avançar, mas algo parecia bloqueá-las. – Desçam! – berrou George. – Todo mundo para fora! Da frente, alguém berrou de volta: – A porta não abre! George lembrou que o policial do revólver tinha trancado a porta para impedir os homens de entrar. – Vamos ter que pular pelas janelas! Venham! Ele ficou em pé sobre um dos bancos e chutou pela janela a maior parte do vidro restante. Então tirou o paletó do terno e usou-o para forrar a soleira e proporcionar alguma proteção contra os cacos afiados ainda presos ao batente. Maria tossia sem parar. – Eu vou primeiro e pego você – disse George. Segurou o encosto do assento para se equilibrar, dobrou o corpo na cintura e pulou. Ouviu a camisa se rasgar em um caco de vidro, mas não sentiu nenhuma dor e concluiu que tivesse escapado sem se ferir. Aterrissou na grama do acostamento. Amedrontada, a turba havia
recuado para longe do ônibus em chamas. George se virou e ergueu os braços para Maria. – Passe como eu fiz! – gritou. Os sapatos de salto dela eram frágeis comparados aos oxfords de bico reforçado que George calçava, e ele ficou satisfeito de ter sacrificado o paletó quando viu seus pezinhos sobre o batente. Maria era mais baixa do que ele, mas suas curvas generosas a tornavam mais larga. Ele fez uma careta quando seu quadril roçou em um caco na hora em que ela se espremeu para passar, mas o vidro não rasgou a fazenda do vestido e instantes depois ela caiu nos seus braços. George a segurou sem dificuldade; ela não era pesada e ele estava em boa forma. Pousou-a no chão, mas ela caiu ajoelhada, arquejando em busca de ar. Ele olhou em volta. Os arruaceiros continuavam a manter distância. Tornou a olhar para dentro do ônibus. Em pé no corredor, Cora Jones tossia e girava, chocada e atarantada demais para fugir. – Cora, aqui! – gritou George. Ela ouviu o próprio nome e olhou para ele. – Passe pela janela como nós fizemos! Eu ajudo você! Ela pareceu entender. Com dificuldade, ainda segurando a bolsa, subiu no assento. Hesitou ao ver os cacos de vidro pontiagudos ao redor do batente da janela, mas seu casaco era grosso e ela pareceu decidir que um corte era melhor do que morrer sufocada. Pôs um dos pés no batente. George passou a mão por dentro da janela, segurou-a pelo braço e puxou. Ela rasgou o casaco, mas não se machucou, e ele a ajudou a ficar em pé. Ela se afastou cambaleando e pedindo água. – Temos que sair de perto do ônibus! – gritou ele para Maria. – O tanque de combustível pode explodir! Maria, porém, convulsionada pela tosse, parecia incapaz de se mover. Ele passou um braço em volta de suas costas, pôs outro debaixo de seus joelhos e a pegou no colo. Carregoua até a mercearia e a recolocou no chão quando julgou que estivessem a uma distância segura. Ao olhar para trás, viu que o ônibus agora se esvaziava depressa. A porta enfim tinha sido aberta, e as pessoas desciam cambaleando e pulavam pelas janelas. As labaredas ficaram mais altas. Depois de os últimos passageiros saírem, o interior do ônibus virou uma fornalha. George ouviu um homem gritar alguma coisa sobre o tanque de combustível, e a multidão repetiu o grito e pôs-se a entoar: – Vai explodir! Vai explodir! Assustados, todos se espalharam para se afastar ainda mais. Foi então que se ouviu um baque grave e, com um súbito jorro de chamas, uma explosão sacudiu o ônibus. George tinha quase certeza de que não havia sobrado ninguém lá dentro, e pensou: pelo menos ninguém morreu... ainda. A detonação pareceu saciar a fome de violência da turba. Os homens ficaram em volta do ônibus vendo-o queimar. Um pequeno grupo do que pareciam ser moradores locais havia se reunido em frente à
mercearia, muitos para instigar a multidão; mas então uma menina saiu lá de dentro com um balde d’água e alguns copos de plástico. Deu um pouco d’água para a Sra. Jones e então foi até Maria, que bebeu um copo agradecida e logo pediu outro. Um rapaz branco se aproximou com ar preocupado. Tinha uma cara de fuinha, testa e queixo recuados, nariz adunco e dentes saltados, e seus cabelos castanhos arruivados estavam lambidos para trás com brilhantina. – Como está, querida? – perguntou a Maria. Só que ele estava escondendo alguma coisa e, quando ela começou a responder, ergueu um pé de cabra bem alto e o baixou, mirando no alto de sua cabeça. George esticou um dos braços para protegê-la e o pé de cabra atingiu com força seu antebraço esquerdo. A dor foi lancinante, e ele gritou. O rapaz tornou a erguer a arma. Apesar da dor no braço, George se projetou para a frente, impelindo o corpo a partir do ombro direito, e trombou no rapaz com tanta força que o fez voar. Tornou a se virar para Maria e viu mais três integrantes da turba correndo na sua direção, obviamente decididos a vingar o amigo com cara de fuinha. George se precipitara ao julgar que os segregacionistas tivessem saciado sua sede de violência. Estava acostumado a brigar. Ainda no curso básico da universidade, fizera parte da equipe de luta livre de Harvard, depois havia treinado a equipe enquanto se formava em Direito. Aquilo ali, porém, não seria uma luta justa, com regras. E ele só estava em condições de usar um dos braços. Por outro lado, tinha feito o ensino médio em uma favela de Washington e sabia muito bem brigar sujo. Como os homens vinham na sua direção ombro a ombro, ele se moveu de lado. Isso não apenas os afastou de Maria como os obrigou a se virar, de modo que agora não formavam mais uma fila só. O primeiro deles o golpeou selvagemente com uma corrente de ferro. George se esquivou para trás e a corrente não o atingiu. O impulso do golpe desequilibrou o sujeito. Quando ele cambaleou, George lhe deu uma rasteira e o derrubou no chão. Ele soltou a corrente. O segundo homem caiu cambaleando por cima do primeiro. George deu um passo à frente, virou as costas e o acertou na cara com o cotovelo direito, torcendo para deslocar sua mandíbula. O homem soltou um grito engasgado e caiu, largando o cano de ferro. Subitamente assustado, o terceiro adversário parou. George deu um passo na sua direção e, com toda a força, desferiu-lhe um soco no rosto. Seu punho acertou o sujeito bem no nariz. O osso se partiu, o sangue jorrou e o homem soltou um grito de dor. Foi o soco que proporcionou mais satisfação a George em toda sua vida. Gandhi que se dane, pensou. Dois tiros ecoaram. Todos pararam o que estavam fazendo e olharam na direção do barulho. Um dos policiais rodoviários uniformizados tinha um revólver erguido no ar. – Muito bem, rapazes, vocês já se divertiram – falou. – Vamos dispersar.
George ficou furioso. Diversão? O policial havia testemunhado uma tentativa de assassinato e chamava aquilo de diversão? Estava começando a ver que, no Alabama, um uniforme da polícia não significava muita coisa. A turba voltou a seus carros. George reparou, zangado, que nenhum dos quatro policiais se deu ao trabalho de anotar qualquer placa. Tampouco anotaram nenhum nome, embora com certeza devessem conhecer todos aqueles homens. Joseph Hugo tinha sumido. Uma nova explosão sacudiu a carcaça do ônibus e George imaginou que devia haver um segundo tanque, mas àquela altura ninguém mais estava perto o bastante para correr perigo. Depois disso, o fogo pareceu se extinguir sozinho. Várias pessoas deitadas pelo chão ainda arquejavam tentando respirar depois de terem aspirado a fumaça. Outras sangravam de vários ferimentos. Alguns eram Viajantes, outros, passageiros normais, negros e brancos. O próprio George segurava o braço esquerdo com a mão direita junto à lateral do corpo, tentando mantê-lo imóvel, pois qualquer movimento lhe provocava uma dor excruciante. Os quatro homens com os quais ele havia brigado ajudavam uns aos outros a mancar de volta até seus carros. Ele conseguiu andar até os policiais. – Precisamos de uma ambulância – falou. – Talvez duas. O mais jovem dos agentes o encarou, irado. – O que foi que você disse? – Essas pessoas precisam de cuidados médicos – explicou George. – Chamem uma ambulância! O homem parecia furioso e George se deu conta de que cometera o erro de dar uma ordem a um homem branco. O policial mais velho, porém, disse ao colega: – Deixe, deixe. – Virou-se então para George. – A ambulância está a caminho, rapaz. Minutos depois, uma ambulância do tamanho de um pequeno ônibus chegou, e os Viajantes começaram a ajudar uns aos outros a embarcar. Quando George e Maria se aproximaram, porém, o motorista falou: – Vocês não. George o encarou, incrédulo. – Como assim? – Esta ambulância é para brancos – disse o motorista. – Não para crioulos. – De jeito nenhum. – Não me desafie, rapaz. Um Viajante branco que já havia subido tornou a descer. – O senhor tem que levar todo mundo para o hospital. Negros e brancos. – Esta ambulância não é para crioulos – repetiu o motorista, teimoso. – Bom, sem nossos amigos nós não vamos. E os Viajantes começaram a descer da ambulância, um a um.
O motorista não soube o que fazer. Ficaria com cara de bobo se voltasse de lá sem pacientes, imaginou George. O policial mais velho se aproximou e disse: – É melhor você levá-los, Roy. – Se você está dizendo... – retrucou o motorista. George e Maria embarcaram na ambulância. Enquanto se afastavam, ele tornou a olhar para o ônibus. Não havia sobrado nada exceto uma coluna de fumaça e uma carcaça carbonizada, com a fileira de escoras enegrecidas que sustentavam o teto a se destacar feito as costelas de um mártir queimado na fogueira.
CAPÍTULO CINCO
Tanya Dvorkin saiu de Yakutsk, na Sibéria – a cidade mais fria do mundo – depois de tomar o desjejum bem cedo. Voou até Moscou, a pouco menos de dois mil quilômetros de distância, a bordo de um Tupolev Tu-16 da Força Aérea do Exército Vermelho. A cabine havia sido projetada para meia dúzia de militares, e o responsável não perdera tempo pensando em seu conforto: os assentos eram feitos de alumínio perfurado e não havia tratamento acústico. A viagem levou oito horas, com uma parada para reabastecer. Como em Moscou eram seis horas a menos do que em Yakutsk, Tanya chegou a tempo para um segundo café da manhã. Era verão na capital, e ela teve de carregar o pesado sobretudo e o chapéu de pele. Pegou um táxi até a Casa do Governo, o prédio reservado à elite moscovita privilegiada onde dividia um apartamento com a mãe, Anya, e o irmão gêmeo, Dmitri, que todos chamavam de Dimka. Era uma unidade espaçosa, com três dormitórios, embora sua mãe dissesse que só era grande pelos padrões soviéticos: o apartamento em Berlim no qual ela havia morado na infância, quando seu avô Grigori era diplomata, era bem mais espaçoso. Nessa manhã, o apartamento estava silencioso e vazio: tanto sua mãe quanto Dimka já tinham saído para o trabalho. Seus sobretudos estavam pendurados no hall de entrada em ganchos pregados ali 25 anos antes pelo pai de Tanya: o impermeável preto de Dimka e o tweed marrom de Anya, deixados em casa por causa do calor. Tanya pendurou o próprio sobretudo junto aos outros e levou a mala até seu quarto. Não esperava encontrá-los, mas mesmo assim sentiu uma certa tristeza pelo fato de a mãe não estar em casa para preparar seu chá, nem Dimka para escutar suas aventuras na Sibéria. Pensou em ir visitar os avós, Grigori e Katerina Peshkov, que moravam em outro andar do mesmo prédio, mas acabou decidindo que não daria tempo. Tomou uma ducha, trocou de roupa e pegou um ônibus até a sede da TASS, a agência de notícias soviética. Tanya era uma entre os mais de mil jornalistas que trabalhavam para a agência, mas poucos andavam de jato militar. Ela era uma estrela em ascensão e conseguia produzir matérias atraentes e interessantes que agradavam aos jovens sem deixar de respeitar as diretrizes do partido. Esse talento às vezes trazia desvantagens: ela muitas vezes recebia missões difíceis e importantes. Na cantina da agência, comeu uma tigela de trigo sarraceno tostado com coalhada e foi até a editoria de matérias especiais em que trabalhava. Embora fosse uma estrela, não merecia uma sala só sua. Cumprimentou os colegas, sentou-se diante de sua mesa, inseriu papel e papel-carbono na máquina e começou a escrever. A turbulência do voo a impedira até de tomar notas, mas ela já havia planejado as matérias em sua cabeça e conseguiu escrever de forma fluente, consultando o bloquinho de vez em quando para conferir detalhes. A pauta era incentivar famílias soviéticas a se mudarem para a
Sibéria e trabalhar nas indústrias em ascensão da mineração e da extração do petróleo, uma tarefa nada fácil. Os campos de prisioneiros forneciam bastante mão de obra não especializada, mas a região precisava de geólogos, engenheiros, agrônomos, arquitetos, químicos e gerentes. Tanya, entretanto, ignorou os homens e escreveu sobre suas esposas. Começou com uma jovem e atraente mãe chamada Klara, que falara com animação e bom humor sobre a vida em temperaturas abaixo de zero. No meio da manhã, Daniil Antonov, editor de Tanya, pegou as folhas na bandeja da moça e começou a ler. Era um homem miúdo, de modos afáveis pouco frequentes no universo jornalístico. – Está ótimo – falou, dali a algum tempo. – Quando pode me entregar o resto? – Estou datilografando o mais rápido que consigo. Ele continuou junto à sua mesa. – Você ouviu alguma coisa sobre Ustin Bodian lá na Sibéria? Bodian era um cantor de ópera que fora pego contrabandeando dois exemplares de Doutor Jivago comprados durante uma apresentação na Itália. Estava agora em um campo de trabalhos forçados. O coração de Tanya acelerou de culpa. Será que Daniil estava desconfiado? Para um homem, ele era especialmente intuitivo. – Não – mentiu. – Por quê? Você ouviu? – Nada. – Ele voltou para sua mesa. Tanya já tinha quase terminado a terceira matéria quando Pyotr Opotkin parou junto à sua mesa e começou a ler seus textos com um cigarro pendurado na boca. Atarracado e de pele maltratada, ele era o editor-chefe de matérias especiais. Ao contrário de Daniil, não era jornalista formado, mas sim comissário, um cargo político. Seu trabalho era garantir que as matérias não violassem as diretrizes do Kremlin, e sua única qualificação para o emprego era uma rígida ortodoxia. Ele leu as primeiras páginas do texto de Tanya e disse: – Já falei para não escrever sobre o clima. Opotkin vinha de uma aldeia ao norte de Moscou e ainda falava com sotaque. Tanya suspirou. – Pyotr, a série é sobre a Sibéria. As pessoas já sabem que faz frio lá. Ninguém se deixaria enganar. – Mas este texto é só sobre o clima. – O texto é sobre como uma habilidosa jovem moscovita está criando os filhos em condições desafiadoras... e vivendo uma grande aventura. Daniil entrou na conversa. – Ela tem razão, Pyotr. Se não mencionarmos o frio, as pessoas vão saber que a matéria é uma porcaria e não vão acreditar em uma palavra sequer. – Não gostei – insistiu Opotkin, teimoso.
– Você precisa admitir que Tanya faz a vida lá parecer empolgante. Opotkin assumiu um ar pensativo. – Talvez vocês tenham razão. – Ele tornou a largar as folhas dentro da bandeja. – Vou dar uma festa na minha casa no sábado à noite – falou então para Tanya. – Minha filha se formou na faculdade. Estava pensando se você e seu irmão não gostariam de ir. Opotkin era um alpinista social malsucedido que dava festas insuportavelmente chatas. Tanya sabia que podia responder pelo irmão. – Eu adoraria, e tenho certeza de que Dimka também, mas é aniversário da nossa mãe. Sinto muito. Opotkin fez cara de ofendido. – Que pena – falou e afastou-se. Quando ele saiu do raio de alcance de suas vozes, Daniil perguntou: – Não é aniversário da sua mãe, é? – Não. – Ele vai verificar. – E aí vai entender que dei uma desculpa educada porque não queria ir. – Você deveria ir às festas dele. Tanya não queria ter aquela conversa. Tinha coisas mais importantes com que se preocupar. Precisava escrever suas matérias, sair dali e salvar a vida de Ustin Bodian. Mas Daniil era um bom chefe e tinha ideias liberais, por isso ela reprimiu a impaciência. – Pyotr não liga a mínima se eu for ou não à festa dele – falou. – É meu irmão que ele quer, porque Dimka trabalha para Kruschev. Estava acostumada com pessoas que tentavam se aproximar dela por causa de sua família influente. Seu falecido pai era coronel da KGB, a polícia secreta, e seu tio Volodya era general da Inteligência do Exército Vermelho. Daniil tinha uma insistência típica de jornalista. – Pyotr cedeu em relação às matérias sobre a Sibéria. Você deveria mostrar que está agradecida. – Eu detesto aquelas festas. Os amigos dele ficam bêbados e mexem com as esposas uns dos outros. – Não quero que ele comece e implicar com você. – Por que ele implicaria comigo? – Você é muito bonita. – Não era uma cantada. Daniil morava com um amigo, e Tanya tinha certeza de que era um daqueles homens que não sentiam atração por mulheres. Seu tom era casual. – Linda, talentosa e o pior de tudo: jovem. Pyotr não vai achar difícil odiar você. Faça uma forcinha para agradá-lo. – Ele se afastou. Tanya se deu conta de que seu editor provavelmente estava certo, mas decidiu pensar no assunto mais tarde e tornou a se concentrar na máquina de escrever. Ao meio-dia, pegou um prato de salada de batatas com arenque em conserva na cantina e
comeu à escrivaninha mesmo. Pouco depois, terminou a terceira matéria. Entregou as folhas a Daniil. – Vou para casa dormir – falou. – Por favor, não me ligue. – Bom trabalho – disse ele. – Durma bem. Ela guardou seu bloco de anotações na bolsa a tiracolo e saiu da agência. Agora precisava se certificar de que ninguém a seguia. Estava cansada, e isso a deixava propensa a cometer erros tolos. Sentia-se preocupada. Passou pelo ponto de ônibus, andou vários quarteirões até o ponto anterior e pegou o coletivo ali. Não fazia sentido, portanto qualquer pessoa que fizesse o mesmo obrigatoriamente a estaria seguindo. Mas ninguém a seguiu. Ela saltou perto de um grandioso palácio pré-revolucionário agora transformado em prédio de apartamentos. Deu a volta no quarteirão, mas ninguém parecia estar vigiando o prédio. Ansiosa, deu mais uma volta para ter certeza. Então entrou no hall sombrio e subiu a escadaria de mármore rachado até o apartamento de Vasili Yenkov. Quando estava prestes a enfiar a chave na fechadura, a porta se abriu, e do outro lado surgiu uma loura magra de uns 18 anos. Atrás dela estava Vasili. Tanya praguejou consigo mesma. Era tarde demais para sair correndo ou fingir que estava indo para outro apartamento. A loura a encarou com um olhar duro, avaliador, examinando seu penteado, suas curvas e suas roupas. Então beijou Vasili na boca, tornou a olhar para Tanya com um ar triunfante e desceu a escada. Vasili tinha 30 anos, mas gostava de meninas novas. Elas diziam sim porque ele era alto e atraente, com um belo rosto de traços marcados, fartos cabelos pretos sempre meio compridos demais e um olhar castanho manso e sedutor. Tanya o admirava por motivos totalmente diferentes: ele era inteligente, corajoso e um escritor de categoria mundial. Entrou no escritório dele e largou a bolsa em cima de uma cadeira. Vasili trabalhava fazendo copidesque de roteiros para o rádio e era um homem naturalmente bagunçado: sua escrivaninha estava coberta de papéis e havia livros empilhados pelo chão. No momento, parecia estar trabalhando em uma adaptação para o rádio da primeira peça de Maxim Gorki, Os filisteus. Sua gata cinza, Mademoiselle, dormia em cima do sofá. Tanya a empurrou para poder se sentar. – Quem era aquela vagabunda? – Minha mãe. Apesar de irritada, Tanya riu. – Sinto muito por ela estar aqui – disse Vasili, embora não parecesse muito triste. – Você sabia que eu viria hoje. – Pensei que fosse mais tarde. – Ela viu meu rosto. Ninguém deveria saber que existe uma ligação entre nós. – Ela trabalha na loja de departamentos GUM. Chama-se Varvara. Não vai desconfiar de
nada. – Vasili, por favor, não deixe isso acontecer de novo. O que estamos fazendo já é perigoso o suficiente. Não deveríamos correr mais riscos. Você pode trepar com uma adolescente em qualquer dia. – Tem razão, e não vai acontecer de novo. Deixe-me lhe preparar um chá. Você parece cansada. – Vasili começou a mexer no samovar. – Estou cansada, sim. Mas Ustin Bodian está morrendo. – Que droga. De quê? – Pneumonia. Tanya não conhecia Bodian pessoalmente, mas o havia entrevistado antes de ele ter problemas. Além do talento extraordinário, ele era um homem bom e generoso. Artista soviético admirado no mundo inteiro, tivera uma vida de grande privilégio, mas ainda era capaz de se zangar publicamente por causa de injustiças cometidas com pessoas menos afortunadas do que ele – e por isso fora mandado para a Sibéria. – Eles ainda o estão obrigando a trabalhar? – perguntou Vasili. Tanya fez que não com a cabeça. – Ele já não consegue. Mas não querem mandá-lo para um hospital. Ele passa o dia inteiro deitado na cama e sua saúde está cada vez pior. – Você o viu? – Caramba, não. Perguntar sobre ele já foi perigoso demais. Se eu tivesse ido ao campo de prisioneiros, eles teriam me feito ficar lá. Vasili lhe passou o chá e o açúcar. – Ele está recebendo algum tratamento médico? – Não. – E deu para ter alguma noção de quanto tempo ele ainda pode ter? Tanya negou com a cabeça. – Você agora sabe tanto quanto eu. – Temos que espalhar essa notícia. Ela concordou. – O único jeito de salvar a vida dele é divulgar a doença e torcer para o governo ter a dignidade de ficar envergonhado. – Vamos lançar uma edição especial? – Sim – falou Tanya. – Hoje mesmo. Os dois publicavam uma folha de notícias ilegal chamada Dissidência. Escreviam sobre censura, passeatas, julgamentos e prisioneiros políticos. Em sua sala na Rádio Moscou, Vasili tinha seu próprio mimeógrafo, em geral usado para copiar roteiros. Lá imprimia em segredo cinquenta exemplares de cada edição do Dissidência. A maioria das pessoas que recebia o jornal fazia outras cópias em suas máquinas de escrever, ou mesmo à mão, e a circulação se multiplicava. Esse sistema de publicação independente, conhecido em russo como samizdat,
era generalizado: romances inteiros já tinham sido distribuídos assim. – Eu escrevo – disse Tanya. Foi até o armário, de onde tirou uma grande caixa de papelão cheia de ração para gatos, na qual enfiou a mão para pegar uma máquina de escrever escondida. Era a que usavam para datilografar o Dissidência. A datilografia era tão única quanto a caligrafia. Cada máquina tinha suas características próprias. As letras nunca se alinhavam de forma perfeita: algumas ficavam meio levantadas, outras, descentralizadas. Outras ainda se desgastavam ou se danificavam de forma singular. Consequentemente, peritos da polícia podiam fazer a correspondência entre uma máquina de escrever e os textos por ela produzidos. Se o Dissidência fosse datilografado na mesma máquina dos roteiros de Vasili, alguém poderia ter percebido, então ele havia roubado uma velha máquina do departamento de programação, que levara para casa e escondera dentro da ração para gatos para que ninguém visse. Uma busca minuciosa poderia encontrá-la, mas no caso de uma busca minuciosa Vasili estaria perdido de qualquer forma. Dentro da caixa havia também folhas do papel encerado especial usado na máquina, que não tinha fita; em vez disso, as letras furavam o papel e o mimeógrafo funcionava fazendo a tinta passar pelos buracos em forma de letra. Tanya escreveu uma notícia sobre Bodian, dizendo que o general Nikita Kruschev seria pessoalmente responsável caso um dos maiores tenores da União Soviética morresse em um campo de prisioneiros. Recapitulou os principais pontos de seu julgamento por atividades antissoviéticas, incluindo sua defesa apaixonada da liberdade artística. Para desviar as suspeitas de si, creditou a informação sobre a doença de Bodian a um fã de ópera imaginário que trabalhava na KGB. Ao terminar, entregou as duas folhas de papel vazado para Vasili. – Está conciso – falou. – A concisão é irmã do talento. Foi Tchekhov quem disse. – Ele leu o texto devagar antes de menear a cabeça com um gesto aprovador. – Vou tirar as cópias lá na rádio. Depois devemos levar os jornais para a praça Maiakovski. Tanya não ficou surpresa, mas estava preocupada. – Será que é seguro? – É claro que não. É um evento cultural não organizado pelo governo. E é por isso que condiz com os nossos objetivos. No início daquele ano, jovens moscovitas tinham começado a se reunir informalmente ao redor da estátua do poeta bolchevique Vladimir Maiakovski. Alguns recitavam poemas em voz alta, atraindo ainda mais gente. Um animado festival de poesia acabara surgindo, e algumas das obras declamadas eram críticas disfarçadas ao governo. Sob Stalin, um fenômeno como esse teria durado dez minutos, mas Kruschev era um reformista. Seu programa incluía um grau limitado de tolerância cultural, e até agora nenhuma ação tinha sido tomada contra as leituras de poesia. Mas a liberalização avançava ao ritmo de
dois passos para a frente e um para trás. Segundo o irmão de Tanya, dependia se Kruschev estava indo bem ou se sentindo politicamente forte, ou então enfrentando revezes e temendo um golpe de seus inimigos conservadores dentro do Kremlin. Fosse qual fosse o motivo, não havia como prever o que as autoridades fariam. Tanya estava cansada demais para pensar no assunto, e calculou que qualquer local alternativo seria igualmente perigoso. – Enquanto você vai à rádio, eu vou dormir. Ela entrou no quarto. Os lençóis estavam amarfanhados; imaginou que Vasili e Varvara tivessem passado a manhã na cama. Cobriu tudo com a colcha, tirou as botas e se deitou. Apesar do corpo cansado, sua mente não sossegava. Apesar do medo, ela queria ir à praça Maiakovski. Mesmo com a produção amadora e a circulação limitada, o Dissidência era uma publicação importante. Sua existência demonstrava que o governo comunista não era todopoderoso e que os dissidentes não estavam sozinhos. Líderes religiosos que lutavam contra perseguições liam nele matérias sobre cantores populares presos por canções de protesto e vice-versa. Em vez de se sentir uma voz isolada em uma sociedade monolítica, o dissidente percebia ser parte de uma grande rede, formada por milhares de pessoas que desejavam um governo diferente e melhor. E o Dissidência agora poderia salvar a vida de Ustin Bodian. Por fim, Tanya adormeceu. Acordou com alguém acariciando seu rosto. Abriu os olhos e viu Vasili deitado ao seu lado. – Vá embora daqui – falou. – A cama é minha. – Eu tenho 22 anos – disse ela, sentando-se. – Sou velha demais para o seu gosto. – Por você eu abriria uma exceção. – Quando eu quiser fazer parte de um harém, aviso. – Por você eu largaria todas as outras. – É mesmo? Caramba! – Sério, largaria mesmo. – Talvez por cinco minutos. – Para sempre. – Se largar por seis meses, eu penso no seu caso. – Seis meses? – Está vendo? Se não consegue ser casto nem por meio ano, como pode prometer a eternidade? Que horas são, afinal? – Você dormiu a tarde inteira. Não levante. Eu tiro a roupa e deito junto com você. Tanya se levantou. – Temos de ir agora. Vasili desistiu. Provavelmente não estava falando sério. Sentia-se obrigado a cantar todas
as mulheres. Depois de fazer isso automaticamente, iria esquecer o assunto, pelo menos por algum tempo. Entregou a Tanya um maço com cerca de 25 folhas de papel impressas dos dois lados com letras levemente borradas: as cópias da nova edição do Dissidência. Apesar do bom tempo, enrolou um cachecol de algodão vermelho no pescoço. O acessório lhe dava um ar de artista. – Então vamos – falou. Tanya o fez esperar enquanto ia ao banheiro. O rosto no espelho a fitou com um penetrante olhar azul emoldurado por cabelos louro-claros bem curtos. Pôs óculos escuros para esconder os olhos e cobriu os cabelos com um lenço marrom sem nada de especial. Agora poderia passar por uma moça qualquer. Ignorando Vasili, que, impaciente, batia os pés no chão, foi até a cozinha e se serviu de um copo d’água da torneira. Bebeu-o e então disse: – Estou pronta. Foram a pé até a estação de metrô. O trem estava lotado de trabalhadores voltando para casa. Saltaram na estação Maiakovski, situada na via perimetral que margeava o centro da cidade. Não ficariam muito tempo ali: assim que tivessem distribuído os cinquenta novos exemplares, iriam embora. – Se houver algum problema, não se esqueça: nós não nos conhecemos – disse Vasili. Os dois se separaram e emergiram da estação com um minuto de diferença. O sol havia baixado, e o dia de verão já esfriava. Além de bolchevique, Vladimir Maiakovski tinha sido um poeta de envergadura internacional, e a União Soviética se orgulhava dele. Sua heroica estátua de 7 metros de altura ocupava o centro da praça batizada em sua homenagem. Reunidas no gramado estavam várias centenas de pessoas, a maioria jovem e algumas vestidas de modo vagamente ocidental, com jeans e suéteres de gola rulê. Um rapaz de boné vendia o romance de sua autoria, páginas reproduzidas em papel carbono perfuradas com furadeira e amarradas com barbante. Chamava-se Crescer ao contrário. Uma moça de cabelos compridos segurava um violão, mas sem fazer menção de tocar; talvez fosse um acessório, como uma bolsa. Um único policial uniformizado patrulhava a praça, mas os agentes da polícia secreta chegavam a ser risíveis de tão óbvios, com seus casacos de couro para esconder as armas, apesar da temperatura amena. Mesmo assim, Tanya evitou encará-los: eles não eram tão engraçados assim. As pessoas se revezavam para se levantar e recitar um ou dois poemas cada. Eram quase todos homens, mas havia umas poucas mulheres. Um rapaz de sorriso travesso leu versos sobre um fazendeiro desajeitado tentando tocar um bando de gansos, que a multidão logo percebeu ser uma metáfora do modo como o Partido Comunista organizava o país. Em pouco tempo estavam todos morrendo de rir, exceto os agentes da KGB, que exibiam um ar de incompreensão. Enquanto ouvia sem prestar muita atenção um poema sobre angústia adolescente no mesmo estilo futurista de Maiakovski, Tanya foi percorrendo a multidão sem se fazer notar ao mesmo
tempo que sacava as folhas de papel do bolso, uma de cada vez, e as entregava discretamente para qualquer um com uma cara amigável. Mantinha sempre um olho em Vasili, que fazia a mesma coisa. Não demorou a escutar exclamações de choque e preocupação quando as pessoas começaram a falar em Bodian: em um grupo como aquele, a maioria o conhecia e sabia por que estava preso. Ela seguiu distribuindo as folhas o mais depressa que podia, ansiosa para se livrar de todas antes que a polícia percebesse o que estava acontecendo. Um homem de cabelos curtos que parecia um ex-soldado ficou em pé na frente dos outros e, em vez de recitar um poema, começou a ler o texto de Tanya sobre Bodian. Ela ficou satisfeita: a notícia estava se espalhando ainda mais depressa do que ela previra. Quando o rapaz chegou ao trecho que contava que Bodian não estava recebendo tratamento médico, ouviram-se gritos indignados. Os homens de casaco de couro, porém, perceberam a mudança no ambiente e ficaram mais alertas. Ela viu um deles falar algo com urgência em um walkietalkie. Ainda faltava distribuir cinco exemplares, que pareciam abrir um rombo em seu bolso. Os agentes da polícia secreta, antes à margem do grupo, começaram a se aproximar e a convergir para cima do rapaz que lia. Ele acenou desafiadoramente com seu exemplar do Dissidência e gritou palavras sobre Bodian enquanto os agentes se aproximavam. Algumas pessoas se aglomeraram em volta do tablado para dificultar a aproximação da polícia. Em resposta, os agentes da KGB ficaram mais truculentos e começaram a empurrar as pessoas para abrir caminho. Era assim que começavam os tumultos. Nervosa, Tanya se afastou em direção à margem da multidão. Sobrara-lhe um exemplar do Dissidência, que ela jogou no chão. De repente, meia dúzia de policiais uniformizados apareceu. Perguntando-se temerosa de onde poderiam ter surgido, Tanya olhou para o edifício mais próximo, do outro lado da rua, e viu outros policiais saindo pela porta: deviam estar escondidos lá dentro, à espera, caso fosse necessário intervir. Sacaram os cassetetes e foram abrindo caminho pela multidão, golpeando as pessoas indiscriminadamente. Tanya viu Vasili se virar e se afastar caminhando o mais rápido possível entre as pessoas, e fez o mesmo. Então uma adolescente em pânico trombou nela e a derrubou no chão. Tanya ficou atordoada por alguns instantes. Quando sua visão clareou, viu mais pessoas correndo. Ajoelhou-se, mas ainda estava tonta. Alguém tropeçou nela e tornou a derrubá-la. Então, de repente, Vasili apareceu e a segurou com as duas mãos para pô-la de pé. Ela teve um segundo de surpresa: não esperava que ele fosse arriscar a própria segurança para ajudála. Um policial então golpeou Vasili na cabeça com um cassetete e o derrubou. Ajoelhando-se, puxou seus braços até as costas e o algemou com movimentos rápidos e experientes. Vasili ergueu o rosto, cruzou olhares com Tanya e, sem produzir nenhum som, articulou a palavra “corra”. Ela se virou e saiu em disparada, mas um segundo depois colidiu com um policial
uniformizado que a segurou pelo braço. Tentou se desvencilhar, aos gritos. – Me solte! Mas o homem apertou com mais força e disse: – Está presa, piranha.
CAPÍTULO SEIS
A Sala Nina Onilova, no Kremlin, fora batizada em homenagem a uma operadora de metralhadora morta durante a Batalha de Sebastopol. Na parede, uma fotografia em preto e branco mostrava um general do Exército Vermelho depositando sobre o túmulo de Nina a medalha da Ordem da Bandeira Vermelha. A imagem encimava uma lareira de mármore branco tão manchada quanto os dedos de um fumante. Por toda a sala, rebuscadas sancas de gesso emolduravam quadrados de tinta mais clara onde outros quadros antes pendiam, sugerindo que as paredes não eram pintadas desde a Revolução. Talvez antigamente aquilo fosse um salão elegante. Agora, a mobília se resumia a umas vinte cadeiras baratas e mesas de cantina reunidas para formar um retângulo comprido. Sobre elas, cinzeiros de cerâmica pareciam ser esvaziados diariamente, mas nunca limpos. Dimka Dvorkin entrou, com a mente em polvorosa e um nó na barriga. A sala era o local em que habitualmente se reuniam os assessores dos ministérios e secretarias que formavam o Presidium do Soviete Supremo, órgão que governava a URSS. Embora fosse assessor de Nikita Kruschev, premiê e presidente do Presidium, Dimka sentia que ali não era o seu lugar. Faltavam poucas semanas para a Cúpula de Viena, o impactante primeiro encontro entre Kruschev e o recém-eleito presidente americano John Kennedy. No dia seguinte, no Presidium mais importante do ano, os líderes da URSS decidiriam a estratégia para a cúpula. Agora, na véspera, os assessores se reuniam para se preparar para o Presidium. Uma reunião de planejamento para outra reunião de planejamento. O representante de Kruschev tinha de apresentar o pensamento do líder de modo que os outros assessores pudessem preparar seus superiores para o dia seguinte. Sua tarefa implícita era desmascarar qualquer oposição latente às ideias do premiê e, se possível, sufocá-la. Era seu dever solene garantir que o debate do dia seguinte corresse sem percalços para o líder. Dimka sabia o que Kruschev pensava sobre a cúpula, mas mesmo assim tinha a sensação de que não seria capaz de lidar com aquela reunião. Era o mais jovem e o menos experiente dos assessores de Kruschev. Fazia apenas um ano que saíra da universidade. Nunca tinha participado de uma reunião pré-Presidium: era novato demais. Dez minutos antes, porém, sua secretária, Vera Pletner, lhe informara que um dos assessores seniores tinha mandado avisar que estava doente e outros dois haviam acabado de ter um acidente de carro, de modo que ele precisava substituí-los. Dois motivos tinham levado o jovem Dimka a conseguir aquele emprego com Kruschev. Um era ter sido o melhor aluno de todos os cursos que fizera, desde o maternal até a universidade. O outro era o fato de seu tio ser general. Ele não sabia qual dos dois fatores fora o mais importante.
Embora projetasse a imagem de um monólito para o mundo exterior, o Kremlin na realidade era um campo de batalha. O poder de Kruschev não era muito sólido. Apesar de comunista no coração e na alma, ele era também um reformista, que via falhas no sistema soviético e queria implementar novas ideias. Mas os velhos stalinistas do Kremlin ainda não estavam derrotados e se mantinham sempre alertas a qualquer oportunidade de enfraquecer Kruschev e fazer retroceder suas reformas. A reunião era informal; assessores tomavam chá e fumavam, sem paletó e com as gravatas afrouxadas – a maioria era do sexo masculino, mas não todos. Dimka viu um rosto amigo: Natalya Smotrov, assessora do ministro das Relações Exteriores, Andrei Gromyko. Com 20 e poucos anos, era uma moça bonita apesar do vestido preto sem graça. Dimka não a conhecia bem, mas tinha falado com ela algumas vezes. Sentou-se ao seu lado. Ela pareceu surpresa em vê-lo. – Konstantinov e Pajari tiveram um acidente de carro – explicou ele. – Eles se machucaram? – Nada grave. – E Alkaev? – Está doente. Cobreiro. – Que nojo. Quer dizer que o representante do líder é você. – Estou apavorado. – Vai dar tudo certo. Ele olhou em volta. Todos pareciam estar esperando alguma coisa. Em voz baixa, perguntou a Natalya: – Quem vai presidir a reunião? Um dos outros o escutou. Era Yevgeny Filipov, que trabalhava para o ministro da Defesa, o conservador Rodion Malinovski. Apesar de ter apenas 30 e poucos anos, vestia-se como um homem bem mais velho, e estava usando um terno folgado do pós-guerra e uma camisa de flanela cinza. Em voz alta, repetiu a pergunta de Dimka com um tom de desprezo: – Quem vai presidir a reunião? Você, claro. Não é você o assessor do presidente do Presidium? Vamos lá, universitário. Dimka sentiu as faces corarem. Por um instante, não soube o que dizer. Então teve uma inspiração e falou: – Graças ao impressionante voo no espaço do major Yury Gagarin, o camarada Kruschev irá a Viena com os parabéns do mundo ecoando em seus ouvidos. No mês anterior, Gagarin tinha se tornado o primeiro homem a viajar para o espaço sideral em um foguete, antecipando-se aos americanos por poucas semanas em um formidável golpe de ciência e propaganda para a União Soviética e para Nikita Kruschev. Os assessores ao redor da mesa bateram palmas, e Dimka começou a se sentir melhor. Então Filipov tornou a falar: – Talvez fosse melhor se o que estivesse ecoando nos ouvidos do primeiro-secretário
fosse o discurso de posse do presidente Kennedy. – Ele parecia incapaz de falar sem um sorriso de escárnio. – Caso os camaradas ao redor da mesa tenham esquecido, Kennedy nos acusou de estar planejando dominar o mundo e jurou nos deter a qualquer custo. Depois de todos os movimentos conciliatórios de nossa parte, insensatos, aliás, na opinião de camaradas experientes, o presidente americano não poderia ter deixado mais claras suas intenções agressivas. – Ele ergueu o braço com um dedo no ar, como um professor. – Só há uma resposta possível para nós: aumentar nossa força militar. Dimka ainda estava pensando no que responder quando Natalya foi mais rápida: – É uma corrida que não podemos ganhar – afirmou ela em um tom prático e profissional. – Os Estados Unidos são mais ricos do que a União Soviética e podem facilmente igualar qualquer incremento em nossas Forças Armadas. A moça tinha mais bom senso do que seu chefe conservador, concluiu Dimka, lançando-lhe um olhar grato e continuando o que ela havia começado: – Daí a política de coexistência pacífica de Kruschev, que nos permite gastar menos com o Exército e em vez disso investir na agricultura e na indústria. Os conservadores do Kremlin odiavam a coexistência pacífica. Para eles, o conflito com o capitalismo-imperialismo era uma guerra de morte. Pelo canto do olho, Dimka viu entrar na sala sua secretária, Vera, uma quarentona inteligente e agitada. Acenou mandando-a embora. Filipov não se deixou vencer tão facilmente. – Não podemos permitir que uma visão ingênua da política mundial nos incentive a reduzir nosso Exército depressa demais – falou com desdém. – Não podemos afirmar que estamos ganhando no cenário internacional. Vejam só como os chineses estão nos desafiando. Isso nos enfraquece em Viena. Por que Filipov estava tentando com tanto afinco fazer Dimka passar por bobo? O rapaz de repente se lembrou de que o outro queria um emprego no gabinete de Kruschev, o emprego que agora era seu. – Assim como a Baía dos Porcos enfraqueceu Kennedy – retrucou. O presidente americano tinha autorizado um plano mirabolante da CIA para invadir Cuba em um lugar chamado Baía dos Porcos, mas o plano dera errado e Kennedy fora humilhado. – Eu acho que a posição do nosso líder é mais forte. – Mesmo assim, Kruschev não conseguiu... Percebendo que estava indo longe demais, Filipov não completou a frase. Aquelas conversas pré-Presidium eram francas, mas havia limites. Dimka aproveitou seu momento de fraqueza. – O que Kruschev não conseguiu fazer, camarada? Por favor, nos explique. Filipov logo se emendou: – Nós não conseguimos alcançar nosso principal objetivo na política externa: uma solução permanente para a situação de Berlim. A Alemanha Oriental é nosso posto avançado na
Europa. Suas fronteiras protegem as da Polônia e da Checoslováquia. Seu status não resolvido é intolerável. – Certo – disse Dimka, e espantou-se com o tom confiante da própria voz. – Eu acho que já basta de falar sobre princípios gerais. Antes de encerrar a reunião, vou explicar o pensamento do primeiro-secretário sobre esse problema. Filipov abriu a boca para protestar contra essa interrupção abrupta, mas Dimka não o deixou prosseguir. – Os camaradas se pronunciarão quando solicitados pela presidência – disse, fazendo questão de impor à voz um tom áspero. Todos se calaram. – Em Viena, Kruschev dirá a Kennedy que não podemos mais esperar. Já fizemos propostas razoáveis para regulamentar a situação de Berlim, e tudo o que os americanos conseguem dizer é que não querem mudanças. – Em volta da mesa, vários participantes assentiram. – Nosso líder vai dizer que, se eles não concordarem com um plano, tomará uma atitude unilateral e, se os americanos tentarem nos deter, revidará à altura. Seguiram-se vários instantes de silêncio. Dimka aproveitou para se levantar. – Obrigado pela presença de todos – falou. Quem disse o que todos estavam pensando foi Natalya: – Isso significa que estamos dispostos a entrar em guerra com os americanos por causa de Berlim? – O primeiro-secretário não acha que vá haver guerra – respondeu Dimka, dando-lhes a mesma resposta evasiva que Kruschev tinha lhe dado. – Kennedy não é louco. Ao sair da sala, viu que Natalya o olhava com surpresa e admiração. Não conseguia acreditar que tinha sido tão firme. Nunca fora covarde, mas aquele era um grupo de homens poderosos e inteligentes, e ele conseguira intimidá-los. Sua posição ajudava: embora fosse jovem, a mesa que ocupava no complexo de salas do premiê lhe conferia poder. Além disso, paradoxalmente, a hostilidade de Filipov tinha ajudado. Todos os presentes podiam entender a necessidade de ter pulso firme com alguém que estivesse tentando prejudicar o líder. Vera o aguardava na antessala. Assistente política experiente, não era de entrar em pânico sem motivo. Dimka teve um lampejo de intuição. – É sobre a minha irmã, não é? Vera ficou assustada. Seus olhos se arregalaram. – Como o senhor faz isso? – indagou, assombrada. Não era nada sobrenatural. Havia algum tempo ele temia que Tanya estivesse prestes a ter problemas. – O que foi que ela fez? – Foi presa. – Ah, droga... Vera apontou para um telefone fora do gancho sobre uma mesa lateral e Dimka o pegou. Sua mãe, Anya, estava na linha.
– Tanya está na Lubyanka! – disse ela, usando o apelido para a sede da KGB na praça Lubyanka. Estava quase histérica. Aquilo não era uma surpresa total para Dimka. Sua irmã gêmea e ele concordavam que havia muitas coisas erradas com a União Soviética, mas, ao passo que ele acreditava na necessidade de uma reforma, ela pensava que o comunismo devia ser abolido. Um desacordo intelectual que não tinha qualquer influência em seu afeto um pelo outro: eles eram melhores amigos e sempre fora assim. Quem pensava como Tanya podia ser preso, e essa era justamente uma das coisas que estavam erradas. – Mãe, calma, vou tirá-la de lá – falou. Torceu para ser capaz de justificar essa firmeza. – Você sabe o que aconteceu? – Um motim em algum encontro de poesia! – Aposto que ela foi à praça Maiakovski. Se for só isso... Ele não sabia tudo em que a irmã se metia, mas desconfiava que fosse pior do que declamar poesia. – Dimka, você precisa fazer alguma coisa! Antes que eles... – Eu sei. Antes que eles começassem a interrogá-la, sua mãe queria dizer. Um calafrio atravessou seu corpo. A perspectiva de ser interrogado nas famosas celas subterrâneas da sede da KGB deixava qualquer cidadão soviético aterrorizado. Seu primeiro instinto fora dizer que daria um telefonema, mas decidiu que isso não bastaria. Precisava ir até lá pessoalmente. Hesitou por um instante: se as pessoas descobrissem que ele fora à Lubyanka libertar a irmã, isso poderia prejudicar sua carreira. Mas esse pensamento não o deteve. Tanya vinha antes dele próprio, de Kruschev e de toda a União Soviética. – Estou a caminho, mãe. Ligue para o tio Volodya e conte o que aconteceu. – Sim, boa ideia! Meu irmão vai saber o que fazer. Dimka desligou. – Ligue para a Lubyanka – pediu a Vera. – Diga claramente que está ligando do gabinete do primeiro-secretário, que está preocupado com a prisão da influente jornalista Tanya Dvorkin. Diga que o assessor do camarada Kruschev está a caminho para saber mais detalhes e que não devem fazer nada antes de ele chegar. A secretária ia anotando. – Quer que eu peça um carro? A praça Lubyanka ficava a um quilômetro e meio do complexo do Kremlin. – Estou com a moto lá embaixo. Vai ser mais rápido. Dimka tinha o privilégio de ser dono de uma motocicleta Voskhod 175 com cinco marchas e escapamento duplo. Sabia que a irmã estava prestes a arrumar problemas porque, paradoxalmente, ela havia
parado de lhe contar tudo, pensou no caminho. Em geral os dois não guardavam segredos um do outro. Dimka tinha uma intimidade com Tanya que não compartilhava com mais ninguém. Quando a mãe não estava e os dois ficavam sozinhos em casa, sua irmã andava pelada pelo apartamento para pegar roupas de baixo limpas na rouparia, e Dimka fazia xixi sem se dar ao trabalho de fechar a porta. Às vezes, seus amigos sugeriam aos risos que aquela intimidade tinha um quê de erotismo, mas a verdade era justamente o contrário: eles só podiam ser tão íntimos porque não havia nenhuma conotação sexual. Ao longo do último ano, entretanto, percebera que Tanya estava lhe escondendo alguma coisa. Não sabia o quê, mas podia adivinhar. Tinha certeza de que não era nenhum namorado: eles contavam um ao outro tudo sobre suas vidas amorosas, comparando detalhes e se consolando. Era quase certo que tivesse a ver com política, pensou. O único motivo que a faria esconder algo do irmão seria protegê-lo. Chegou em frente ao famigerado prédio, um palácio de tijolos amarelos construído antes da Revolução para servir de sede a uma empresa de seguros. Pensar na irmã presa lá dentro lhe deu náuseas. Por alguns segundos, teve medo de que fosse vomitar. Estacionou bem em frente à entrada principal, esperou um pouco até recuperar a compostura e entrou. Daniil Antonov, editor de Tanya, já estava lá e conversava com um agente da KGB no saguão. Era um homem baixo e franzino que Dimka considerava inofensivo, mas estava se mostrando incisivo. – Quero ver Tanya Dvorkin e quero vê-la agora – falou. O agente da KGB ostentava a mesma expressão obstinada de uma mula. – Isso talvez não seja possível. Dimka entrou na conversa. – Sou do gabinete do primeiro-secretário. O agente não se deixou impressionar. – E o que você faz lá, meu filho? Prepara o chá? – disse ele, grosseiro. – Qual é o seu nome? Era uma pergunta intimidadora: as pessoas morriam de medo de dizer seu nome à KGB. – Dmitri Dvorkin, e vim aqui lhe informar que o camarada Kruschev tem um interesse pessoal neste caso. – Vá se foder, Dvorkin – retrucou o sujeito. – O camarada Kruschev não sabe nada sobre este caso. Você veio aqui tirar sua irmã da encrenca. Dimka ficou espantado com a grosseria confiante do agente. Calculou que muita gente que tentava livrar parentes ou amigos de uma prisão pela KGB devia alegar ligações pessoais com gente poderosa. Mesmo assim, fez uma nova tentativa: – Qual é o seu nome? – Capitão Mets. – E do que vocês estão acusando Tanya Dvorkin?
– De agredir um agente. – Uma garota bateu em um dos seus capangas de casaco de couro? – indagou Dimka com sarcasmo. – Ela primeiro deve ter pego a arma dele. Vamos, Mets, deixe de ser babaca. – Ela participou de uma reunião sediciosa. Havia literatura antissoviética circulando. – Ele entregou a Dimka uma folha de papel amassada. – A reunião virou motim. Dimka olhou para o papel intitulado Dissidência. Já tinha ouvido falar naquela folha de notícias subversiva. Era muito fácil Tanya ter algo a ver com aquilo. A edição era sobre o cantor de ópera Ustin Bodian. Dimka foi momentaneamente distraído pela chocante alegação de que Bodian estava morrendo de pneumonia em um campo de trabalho na Sibéria. Então lembrou que Tanya chegara da Sibéria naquele mesmo dia e entendeu que ela devia ter escrito aquilo. Talvez estivesse mesmo em apuros. – Tanya estava com este jornal, segundo o senhor? – perguntou. Viu Mets hesitar e completou: – Pensei mesmo que não. – Ela não deveria estar lá. – Ela é jornalista, seu tolo – interveio Daniil. – Estava observando o evento, assim como os seus agentes. – Ela não é agente. – Todos os jornalistas da TASS cooperam com a KGB, como o senhor bem sabe. – Vocês não podem provar que ela estava lá oficialmente. – Eu posso, sim. Sou o editor dela. Fui eu que a mandei para lá. Seria verdade?, pensou Dimka. Duvidava muito. Ficou grato por Daniil se arriscar tentando defender Tanya. Mets já não se mostrava mais tão confiante. – Ela estava com um homem chamado Vasili Yenkov, que tinha cinco cópias desse papel no bolso. – Ela não conhece ninguém chamado Vasili Yenkov – afirmou Dimka. Podia ser verdade: ele com certeza nunca tinha ouvido aquele nome. – Se era um motim, como vocês podem dizer quem estava com quem? – Vou ter que falar com meus superiores – retrucou Mets, e virou as costas. Dimka forçou a voz a sair dura. – Não demore – bradou. – A próxima pessoa do Kremlin que o senhor vir talvez não seja o garoto que prepara o chá. Mets desceu uma escada. Dimka estremeceu: todos sabiam que as salas de interrogatório ficavam no porão. Instantes depois, um homem mais velho com um cigarro pendurado no canto da boca foi se juntar a Dimka e Daniil no saguão. Tinha um rosto feio, flácido, com um queixo agressivamente protuberante. Daniil não pareceu contente ao vê-lo. Apresentou-o como Pyotr Opotkin, o editor-chefe de matérias especiais. Opotkin encarou Dimka com olhos semicerrados para se proteger da fumaça.
– Quer dizer que sua irmã foi presa em um encontro de protesto – falou. Apesar do tom zangado, Dimka sentiu que, no fundo, Opotkin estava satisfeito por algum motivo. – Uma leitura de poesia – corrigiu. – Não faz muita diferença. – Fui eu que a mandei lá – interveio Daniil. – No dia em que ela voltou da Sibéria? – perguntou Opotkin, cético. – Na verdade não era um trabalho. Sugeri que ela passasse lá para ver o que estava acontecendo, só isso. – Não minta para mim – disse Opotkin. – Você só está tentando protegê-la. Daniil ergueu o queixo e lançou-lhe um olhar desafiador. – E não foi isso que você veio fazer aqui? Antes de Opotkin conseguir responder, o capitão Mets voltou. – O caso ainda está sendo examinado – informou. Opotkin se apresentou e mostrou a Mets seu documento de identidade. – A questão não é se Tanya Dvorkin deve ser punida, mas como – falou. – Exato – respondeu Mets, deferente. – Gostaria de me acompanhar? Opotkin assentiu, e o capitão o conduziu escada abaixo. – Ele não vai deixar que ela seja torturada, vai? – indagou Dimka em voz baixa. – Opotkin já estava zangado com Tanya – disse Daniil, preocupado. – Por quê? Pensei que ela fosse uma boa jornalista. – Ela é brilhante. Mas recusou o convite para uma festa na casa dele no sábado. Ele queria que você fosse também. Pyotr adora gente importante. Ser esnobado o magoa muito. – Ai, merda. – Eu disse a ela que deveria ter aceitado. – Você a mandou mesmo à praça Maiakovski? – Não. Nós nunca poderíamos dar uma matéria sobre uma reunião tão extraoficial. – Obrigado por tentar protegê-la. – É uma honra... mas não acho que esteja dando certo. – O que acha que vai acontecer? – Ela pode ser demitida. Mais provavelmente será transferida para algum lugar desagradável, como o Cazaquistão. – Daniil franziu a testa. – Preciso pensar em algum acordo que satisfaça Opotkin, mas não seja duro demais para Tanya. Ao olhar para a porta de entrada, Dimka viu um homem de 40 e poucos anos com os cabelos bem curtos, à moda militar, e vestido com o uniforme de general do Exército Vermelho. – Tio Volodya, até que enfim – falou. Volodya Peshkov tinha o mesmo olhar azul penetrante da sobrinha. – Que porra está acontecendo aqui? – perguntou ele, irado. Dimka lhe contou. Quando estava terminando, Opotkin reapareceu. Dirigiu-se a Volodya
em tom obsequioso: – General, eu debati esse problema da sua sobrinha com nossos amigos da KGB, e eles disseram que vão se contentar se eu tratar a situação como uma questão interna da TASS. Dimka sentiu o corpo relaxar de alívio. Então pensou se a estratégia de Opotkin teria sido manipular a situação para se colocar na posição de quem estaria fazendo um favor a Volodya. – Permita-me fazer uma sugestão – disse o general. – O senhor poderia assinalar o incidente como sério, sem atribuir culpa a ninguém, simplesmente transferindo Tanya para outro cargo. Era a mesma punição que Daniil mencionara segundos antes. Opotkin assentiu, pensativo, como quem reflete sobre o assunto, mas Dimka tinha certeza de que ele concordaria de bom grado com qualquer “sugestão” do general Peshkov. – Quem sabe um posto no exterior? – indagou Daniil. – Ela fala alemão e inglês. Dimka sabia que isso era um exagero: Tanya tinha estudado os dois idiomas na escola, de fato, mas isso não era a mesma coisa que ser fluente. Daniil estava tentando impedir que sua irmã fosse banida para alguma região remota da URSS. – E ela poderia continuar escrevendo matérias para o meu departamento – prosseguiu o editor. – Eu preferiria não perdê-la para a editoria de notícias... ela é boa demais. Opotkin parecia em dúvida. – Não podemos mandá-la para Londres ou Bonn. Isso iria parecer uma recompensa. Era verdade. Missões em países capitalistas eram disputadas. As ajudas de custo eram colossais e, ainda que não comprassem tantas coisas quanto na URSS, mesmo assim os cidadãos soviéticos viviam muito melhor no Ocidente do que no seu país. – Berlim Oriental, talvez, ou quem sabe Varsóvia? – sugeriu Volodya. Opotkin assentiu. Ser transferida para outro país comunista era mais parecido com uma punição. – Fico feliz que tenhamos conseguido resolver a questão – disse Volodya. – Vou dar uma festa no sábado à noite – disse Opotkin para Dimka. – Quem sabe você gostaria de ir? Dimka imaginou que isso selaria o acordo. Fez que sim com a cabeça. – Tanya me disse – falou, fingindo animação. – Iremos os dois. Obrigado. Opotkin ficou radiante. – Por acaso sei de uma vaga em um país comunista disponível agora mesmo – disse Daniil. – Precisamos de alguém lá com urgência. Ela poderia viajar amanhã. – Onde? – perguntou Dimka. – Em Cuba. – Pode ser uma solução aceitável – disse Opotkin, agora animado. Com certeza era melhor do que o Cazaquistão, pensou Dimka. Mets reapareceu no saguão acompanhado por Tanya. Dimka sentiu o coração dar um pinote: sua irmã estava pálida e assustada, mas não parecia ferida. Mets falou com um misto
de deferência e desafio, como um cão que ladra por estar assustado: – Permitam-me sugerir que a jovem Tanya mantenha distância de leituras de poesia no futuro. Apesar de parecer prestes a esganar aquele idiota, Volodya ostentou um sorriso. – Ótimo conselho, tenho certeza. Todos saíram. A noite havia caído. – Estou de moto, posso levá-la para casa – disse Dimka. – Sim, por favor – respondeu ela. Obviamente queria conversar com o irmão. – Deixe que eu a levo no meu carro... você parece abalada demais para andar de moto – sugeriu Volodya, que não sabia ler tão bem a mente da sobrinha. Para sua surpresa, Tanya falou: – Obrigada, tio, mas prefiro ir com Dimka. Volodya deu de ombros e entrou em uma limusine Zil que o aguardava. Daniil e Pyotr se despediram. Assim que os dois se viram fora do alcance de ouvidos alheios, Tanya se virou para Dimka com uma expressão desatinada. – Eles disseram alguma coisa sobre Vasili Yenkov? – Sim, que você estava com ele. É verdade? – É. – Ai, merda. Mas ele não é seu namorado, é? – Não. Você sabe o que aconteceu com ele? – Ele estava com cinco exemplares do Dissidência no bolso, portanto não vai sair da Lubyanka tão cedo, mesmo que tenha amigos em altos cargos. – Caramba! Acha que eles vão investigá-lo? – Com certeza. Vão querer saber se ele só distribui o Dissidência ou se na verdade o produz, o que seria bem mais sério. – Vão revistar o apartamento dele? – Seria uma omissão não fazê-lo. Por quê? O que vão encontrar lá? Ela olhou em volta, mas não havia ninguém por perto. Mesmo assim, baixou a voz: – A máquina de escrever na qual o Dissidência é datilografado. – Então fico feliz por Vasili não ser seu namorado, porque ele vai passar os próximos 25 anos na Sibéria. – Não diga isso! Dimka franziu a testa. – Você não está apaixonada por ele, dá para ver... mas tampouco lhe é totalmente indiferente. – Olhe aqui, Vasili é um homem corajoso e um poeta incrível, mas o nosso relacionamento não é romântico. Eu nunca sequer o beijei. Ele é um daqueles homens que precisam ter várias
mulheres diferentes. – Igual ao meu amigo Valentin. Valentin Lebedev, seu colega de quarto na universidade, tinha sido um verdadeiro Don Juan. – Isso, exatamente igual ao Valentin. – Então... que importância tem para você se eles vasculharem o apartamento de Vasili e encontrarem a máquina de escrever? – Muita. Nós produzíamos o Dissidência juntos. Fui eu que escrevi a edição de hoje. – Que merda. Era isso que eu temia. Agora Dimka sabia que segredo a irmã vinha escondendo dele no último ano. – Temos que ir ao apartamento dele agora mesmo, pegar a máquina e dar um fim nela. Dimka deu um passo para longe da irmã. – De jeito nenhum. Pode esquecer. – Mas é preciso! – Não. Eu correria qualquer risco por você, e talvez corresse um risco grande por alguém que você amasse, mas não vou arriscar meu pescoço por esse cara. Nós todos podemos ir parar na porra da Sibéria! – Então eu vou sozinha. Tentando avaliar todos os riscos, Dimka tornou a franzir a testa. – Quem mais sabe sobre você e Vasili? – Ninguém. Nós tomamos cuidado. Eu me certifiquei de não ser seguida toda vez que fui à casa dele. Nunca nos encontramos em público. – Quer dizer que a investigação da KGB não vai ligar você a ele. Ela hesitou, e foi nesse momento que Dimka entendeu que eles estavam em sérios apuros. – O que foi? – perguntou. – Depende de quão criteriosos forem os homens da KGB. – Por quê? – Hoje de manhã, quando fui ao apartamento de Vasili, tinha uma garota lá... Varvara. – Ai, caralho... – Ela estava de saída. Não sabe o meu nome. – Mas, se a KGB lhe mostrar fotos das pessoas presas na praça Maiakovski, ela pode conseguir identificar você? Tanya pareceu amedrontada. – Ela me olhou de cima a baixo, bem devagar, imaginando que eu pudesse ser uma rival. Sim, poderia reconhecer meu rosto. – Ai, meu Deus, então nós precisamos pegar a tal máquina. Sem ela, eles vão pensar que Vasili não passa de um distribuidor do Dissidência, então provavelmente não devem tentar encontrar todas as suas namoradas casuais, ainda mais porque parece haver muitas. Talvez você consiga escapar. Mas, se eles acharem a máquina, você está perdida.
– Eu vou sozinha. Tem razão, não posso fazer você correr todo esse perigo. – Mas eu não posso deixar você correr todo esse perigo sozinha – retrucou ele. – Qual é o endereço? Ela lhe disse. – Não fica muito longe daqui. Suba na moto. Ele subiu e acionou o pedal da partida. Tanya hesitou, mas então subiu na garupa. Dimka acendeu o farol e eles saíram dali. Enquanto dirigia, ele pensou se a KGB já estaria no apartamento de Vasili vasculhando tudo. Era uma possibilidade, concluiu, mas improvável. Considerando que tivessem prendido umas quarenta ou cinquenta pessoas, levariam a maior parte da noite para conduzir os primeiros interrogatórios, coletar nomes e endereços e decidir quem priorizar. Ainda assim, era sensato ter cautela. Quando chegaram ao endereço que Tanya tinha lhe dado, ele passou na frente sem diminuir a velocidade. Os postes da rua iluminavam um grandioso casarão do século XIX. Todas as construções desse tipo haviam sido convertidas em escritórios para o governo ou então divididas em apartamentos. Não havia nenhum carro estacionado na frente do prédio nem agentes da KGB de casaco de couro à espreita na entrada. Ele deu a volta no quarteirão sem ver nada suspeito. Por fim, estacionou a uns 200 metros da porta. Desceu da moto. Uma mulher que passeava com um cachorro lhes deu boa-noite e passou direto. Dimka e Tanya entraram no prédio. A portaria devia ter sido um salão imponente. Agora, uma solitária lâmpada elétrica revelava um piso de mármore todo lascado e riscado e uma imensa escadaria com vários balaústres faltando no corrimão. Os irmãos subiram a escada. Tanya pegou uma chave e abriu o apartamento. Eles entraram e fecharam a porta. Ela seguiu na frente até a sala. Uma gata cinza os observava, desconfiada. Tanya tirou de um armário uma caixa grande cheia até a metade com ração para gatos. Vasculhou lá dentro até encontrar uma máquina de escrever protegida por uma capa. Então pegou também algumas folhas de papel estêncil. Rasgou as folhas, jogou-as na lareira e acendeu um fósforo para queimá-las. Enquanto as via arder, Dimka perguntou, zangado: – Por que você põe tudo em risco só por causa de um protesto inútil? – Nós vivemos em uma tirania brutal. Temos que fazer alguma coisa para manter viva a esperança. – Nós vivemos em uma sociedade que está desenvolvendo o comunismo – corrigiu Dimka. – É difícil, temos problemas. Mas você deveria ajudar a resolver esses problemas em vez de fomentar o descontentamento. – Como é possível encontrar soluções se ninguém pode falar sobre os problemas?
– No Kremlin nós falamos sobre os problemas o tempo todo. – E os mesmos poucos homens de pensamento limitado sempre decidem não fazer nenhuma mudança importante. – Nem todos têm o pensamento limitado. Alguns estão trabalhando duro para mudar as coisas. É só nos dar um pouco de tempo. – A revolução foi há quarenta anos. De quanto tempo vocês precisam para finalmente reconhecer que o comunismo é um fracasso? As folhas na lareira tinham se transformado rapidamente em cinzas negras. Frustrado, Dimka deu as costas à irmã. – Nós já tivemos esta mesma discussão tantas vezes... Precisamos sair daqui. Ele pegou a máquina de escrever. Tanya recolheu a gata e os dois saíram. Quando estavam deixando o prédio, um homem entrou na portaria carregando uma pasta e acenou com a cabeça ao passar por eles na escada. Dimka torceu para a luz fraca o impedir de ver direito seus rostos. Em frente à porta, Tanya pôs a gata na calçada. – Você agora vai ter que se virar sozinha, Mademoiselle. A gata saiu andando com um ar de desdém. Os dois seguiram depressa pela rua até a esquina, e Dimka tentou sem muito sucesso esconder a máquina de escrever debaixo do paletó. Para sua consternação, a lua tinha nascido e eles estavam bem visíveis. Chegaram à motocicleta. Dimka passou a máquina para Tanya. – Como vamos nos livrar desse troço? – sussurrou. – Jogando no rio? Ele pensou por um instante e então se lembrou de um ponto na margem do rio ao qual ele e alguns colegas de faculdade já tinham ido algumas vezes para passar a noite em claro tomando vodca. – Eu conheço um lugar. Subiram na moto e Dimka saiu do centro em direção ao sul. O lugar em que estava pensando ficava nos arredores da cidade, mas era melhor assim: menos provável alguém reparar neles. Depois de uns vinte minutos dirigindo depressa, ele parou em frente ao mosteiro de Nikolo-Perervinsky. Dotada de uma catedral magnífica, a antiga instituição estava agora em ruínas, abandonada havia décadas e destituída de seus tesouros. Ficava em um trecho de terreno situado entre a principal ferrovia em direção ao sul e o rio Moscou. Os campos à sua volta estavam sendo transformados em canteiros de obras para arranha-céus residenciais, mas à noite o bairro ficava deserto. Não havia ninguém à vista. Dimka empurrou a moto para fora da estrada até o meio de um grupo de árvores e a apoiou
no descanso. Então conduziu Tanya pelo meio do bosque até o mosteiro em ruínas. O luar conferia aos prédios desmoronados um tom branco espectral. As cúpulas da catedral estavam ruindo, mas a maioria dos telhados de telhas verdes das construções do mosteiro permanecia intacta. Dimka não conseguia parar de pensar que os fantasmas de várias gerações de monges o observavam pelas janelas quebradas. Conduziu Tanya por um campo pantanoso na direção oeste até o rio. – Como você conhece este lugar? – ela quis saber. – Nós vínhamos aqui quando estávamos na faculdade. Ficávamos bêbados e víamos o sol nascer acima do rio. Chegaram à beira da água. O rio ali não passava de um canal vagaroso em uma curva larga, e suas águas estavam plácidas sob o luar. No entanto, Dimka sabia que eram fundas o suficiente para o que eles pretendiam fazer. – Que desperdício – disse Tanya, hesitando. Dimka deu de ombros. – Máquinas de escrever são caras, mesmo. – Não é só pelo dinheiro. É uma voz dissidente, uma visão alternativa do mundo, uma forma diferente de pensar. Uma máquina de escrever significa liberdade de expressão. – Nesse caso, você estará melhor sem ela. Tanya entregou a máquina ao irmão. Ele moveu o rolo o mais para a direita possível, de modo a criar um cabo pelo qual segurar o objeto. – Lá vai – falou. Levou o braço para trás e, com toda a força de que foi capaz, atirou a máquina no rio. Não conseguiu jogá-la muito longe, mas ela aterrissou com um baque gratificante e logo sumiu de vista. Os dois irmãos ficaram em pé sob a luz da lua vendo a água se encrespar. – Obrigada – disse Tanya. – Principalmente porque você não acredita no que estou fazendo. Ele passou o braço pelos seus ombros e, juntos, os dois foram embora.
CAPÍTULO SETE
George Jakes estava de mau humor. Embora engessado e pendurado em uma tipoia presa ao seu pescoço, seu braço ainda doía. Ele havia perdido o cobiçado emprego antes mesmo de começar. Exatamente como Greg previra, o escritório de advocacia Fawcett Renshaw havia retirado a proposta depois de o seu nome sair no jornal como um Viajante da Liberdade ferido. Agora ele não sabia o que iria fazer com o resto da vida. A cerimônia de formatura, conhecida como commencement, o “começo”, acontecia no Pátio Antigo de Harvard, uma esplanada coberta de grama e cercada por graciosas construções de tijolo vermelho. Membros do Conselho de Supervisão usavam cartola e fraque. Diplomas honorários foram concedidos ao secretário das Relações Exteriores britânico, um aristocrata sem queixo chamado Lorde Home, e a um membro da equipe de Kennedy na Casa Branca chamado, estranhamente, McGeorge Bundy. George estava um pouco triste por sair da faculdade. Havia passado sete anos ali, primeiro como aluno do ciclo básico, depois no curso de Direito. Conhecera pessoas incríveis e fizera alguns bons amigos. Passara em todas as provas. Saíra com muitas mulheres e fora para a cama com três. Ficara bêbado uma vez e detestara a sensação de perder o controle. Nesse dia, porém, estava mal-humorado demais para se entregar à nostalgia. Depois da violência em Anniston, esperava uma resposta firme do governo Kennedy. Jack Kennedy tinha se apresentado ao eleitorado americano como um homem liberal e conquistara o voto dos negros. Bobby Kennedy era secretário de Justiça, o mais alto cargo de segurança pública do país, e George imaginara que ele fosse dizer, em alto e bom som, que a Constituição norteamericana valia tanto no Alabama quanto em qualquer outro lugar. Só que Bobby não tinha feito isso. Ninguém fora preso por atacar os Viajantes da Liberdade. Nem a polícia local nem o FBI tinham investigado qualquer um dos muitos crimes violentos cometidos. Em pleno ano de 1961, nos Estados Unidos, racistas brancos podiam atacar manifestantes defensores dos direitos civis – quebrar seus ossos, tentar queimá-los vivos – na frente da polícia e sair impunes. A última vez que George vira Maria Summers fora no consultório de um médico. Os Viajantes da Liberdade feridos tinham sido recusados no hospital mais próximo, mas acabaram encontrando profissionais dispostos a atendê-los. George estava com uma enfermeira, recebendo tratamento para o braço quebrado, quando Maria apareceu dizendo ter conseguido um voo para Chicago. Se pudesse, ele teria se levantado e lhe dado um abraço. Mas ela lhe dera apenas um beijo na bochecha antes de sumir. Perguntou-se se algum dia voltaria a vê-la. Eu poderia ter me apaixonado muito por essa mulher, pensou. Talvez já estivesse apaixonado. Em dez dias de conversas ininterruptas, não
se sentira entediado nenhuma vez sequer: ela era tão inteligente quanto ele, talvez até mais. Além disso, apesar do ar inocente, tinha olhos castanhos aveludados que o faziam imaginá-la à luz de velas. A cerimônia de formatura terminou às onze e meia. Formandos, parentes e ex-alunos começaram a se afastar por entre as sombras dos altos olmos a caminho dos almoços oficiais nos quais seriam entregues os diplomas. George procurou seus parentes, que no início não viu. Mas avistou Joseph Hugo. O rapaz estava sozinho, em pé junto à estátua de bronze de John Harvard, acendendo um de seus longos cigarros. Com a beca preta de formatura, sua pele branca parecia ainda mais cadavérica. George cerrou os punhos. Queria matar aquele traidor de porrada, mas o seu braço esquerdo estava inutilizável e, de toda forma, se ele e Hugo tivessem uma briga no Pátio Antigo nesse dia, as consequências seriam gravíssimas. Talvez até perdessem os diplomas. George já estava suficientemente encrencado. O mais sensato seria ignorar o colega e seguir em frente. Mas em vez disso ele disse: – Hugo, seu merda! Apesar do braço ferido de George, o outro rapaz pareceu amedrontado. Tinha a mesma altura e devia ser tão forte quanto George, mas este tinha a vantagem de estar com raiva, e Joseph sabia disso. Olhando para o outro lado, tentou rodear George enquanto resmungava: – Não quero papo com você. – Isso não me espanta. – George avançou para se postar à sua frente. – Você ficou olhando enquanto uma turba enfurecida me atacava. Aqueles arruaceiros quebraram a droga do meu braço! Hugo recuou um passo. – Vocês não deveriam ter ido ao Alabama. – E você não deveria ter se passado por ativista de direitos civis quando na verdade estava espionando para o adversário! Quem estava lhe pagando, a Ku Klux Klan? Hugo empinou o queixo, desafiador, e George teve vontade de socá-lo. – Eu me ofereci para dar informações ao FBI – respondeu Hugo. – Então nem dinheiro você recebeu! Não sei se isso é melhor ou pior. – Mas não vou ser voluntário por muito mais tempo: começo a trabalhar lá na semana que vem. – Ele disse isso em um tom meio constrangido, meio desafiador de quem admite pertencer a uma seita religiosa. – Você foi um dedo-duro tão bom que eles lhe deram um emprego. – Eu sempre quis trabalhar com segurança pública. – Não era isso que você estava fazendo lá em Anniston. Você estava do lado dos criminosos. – Vocês são comunistas. Já os ouvi falando sobre Karl Marx. – E também sobre Hegel, Voltaire, Gandhi e Jesus Cristo. Faça-me o favor, Hugo, nem
você é tão burro assim. – Eu odeio desordem. E era justamente esse o problema, pensou George, amargurado. As pessoas detestavam desordem. A cobertura da imprensa havia culpado os Viajantes por criarem confusão, não os segregacionistas com seus tacos de beisebol e bombas. Isso o deixava louco de frustração: será que ninguém naquele país pensava no que era certo? Do outro lado do gramado, viu Verena Marquand acenando para ele. De repente, perdeu qualquer interesse por Joseph Hugo. Verena estava se formando em letras, mas havia tão poucos negros em Harvard que todos se conheciam. E ela era tão deslumbrante que George teria reparado nela mesmo que houvesse mil garotas negras na universidade. Tinha olhos verdes e a pele da cor de um sorvete de caramelo. Por baixo da beca, usava um vestido verde curto que deixava à mostra um par de pernas compridas e lisinhas. Usava o capelo inclinado sobre a cabeça em um ângulo gracioso. Era dinamite pura. As pessoas diziam que ela e George formavam um belo casal, mas os dois nunca tinham saído juntos. Sempre que ele estava solteiro, ela estava namorando, e vice-versa. Agora era tarde demais. Verena era uma ardente defensora dos direitos civis e depois da formatura iria para Atlanta trabalhar para Martin Luther King. – Aquela sua Viagem da Liberdade foi mesmo o início de algo importante! – disse-lhe ela, entusiasmada. Era verdade. Depois do incêndio do ônibus em Anniston, George fora embora do Alabama de avião com o braço engessado, mas outros haviam continuado a luta. Dez alunos de Nashville pegaram um ônibus até Birmingham, onde foram presos. Outros Viajantes substituíram o primeiro grupo. Houve mais violência por parte de grupos de brancos racistas. As Viagens da Liberdade tinham virado um movimento de massa. – Mas perdi o emprego – disse George. – Vamos para Atlanta trabalhar com King – propôs Verena na mesma hora. George se espantou. – Ele disse para você me chamar? – Não, mas ele precisa de um advogado, e nenhum dos candidatos tem metade da sua inteligência. George ficou intrigado. Quase havia se apaixonado por Maria Summers, mas seria bom esquecê-la: decerto nunca a veria de novo. Pensou se Verena sairia com ele caso os dois estivessem trabalhando para King. – É uma ideia – falou. Mas queria pensar um pouco. – Seus pais vieram hoje? – perguntou, mudando de assunto. – Claro. Venha conhecê-los. Os pais de Verena apoiavam Kennedy e eram verdadeiras celebridades; George estava
torcendo para que agora fossem a público criticar o presidente por sua fraca reação diante da violência segregacionista. Talvez ele e Verena, juntos, conseguissem convencê-los a dar uma declaração pública. Isso aliviaria bastante a dor no seu braço. Ele atravessou o gramado ao lado de Verena. – Mãe, pai, este é o meu amigo George Jakes – disse ela. Seus pais eram um negro alto e bem vestido e uma branca com um penteado louro rebuscado. George já tinha visto fotos suas muitas vezes: eram um casal inter-racial famoso. Percy Marquand, o “Bing Crosby negro”, era astro de cinema e um cantor de voz suave; Babe Lee era uma atriz de teatro especializada em papéis de mulheres de fibra. Percy falou com seu barítono caloroso, gravado em uma dezena de discos de sucesso: – Lá no Alabama esse seu braço foi quebrado por todos nós, Sr. Jakes. É uma honra apertar sua mão. – Obrigado, mas, por favor, me chame de George. Babe Lee estendeu a mão e o fitou nos olhos como se quisesse se casar com ele. – Somos muito gratos a você, George, e estamos orgulhosos também. Sua atitude era tão sedutora que George, constrangido, olhou de esguelha para o marido dela, pensando que Percy talvez estivesse zangado. No entanto, nem Verena nem o pai esboçaram qualquer reação, e ele se perguntou se Babe fazia isso com todos os homens que conhecia. Assim que conseguiu libertar a mão do aperto dela, virou-se para Percy. – Sei que o senhor fez campanha para Kennedy na eleição presidencial do ano passado. Não está com raiva do comportamento dele agora em relação aos direitos civis? – Estamos todos decepcionados – respondeu Percy. – E é bom estarem, mesmo! – intrometeu-se Verena. – Bobby Kennedy pediu uma trégua aos Viajantes. Dá para acreditar em uma coisa dessas? É claro que o CORE recusou. Este país é governado por leis, não por turbas amotinadas! – Justamente o que o secretário de Justiça deveria ter defendido – acrescentou George. Percy assentiu, impassível diante daquele duplo ataque. – Ouvi dizer que o governo fez um acordo com os estados sulistas – disse ele. George apurou os ouvidos: aquilo não tinha saído nos jornais. – Os governadores concordaram em frear as turbas, e é isso que os irmãos Kennedy querem. George sabia que, em política, ninguém nunca dava nada de graça. – Em troca de quê? – O secretário de Justiça vai deixar passar a prisão ilegal dos Viajantes da Liberdade. Verena ficou indignada e irritada com o pai. – Preferiria que você tivesse me contado isso antes, pai – falou, seca. – Eu sabia que você ficaria brava, meu amor. O tratamento condescendente fez o rosto de Verena ficar sombrio, e ela olhou para o outro lado.
George se concentrou na questão mais importante: – O senhor vai protestar publicamente, Sr. Marquand? – Pensei nisso – disse Percy. – Mas não acho que vá ter muito impacto. – Talvez influencie os eleitores negros a não votarem em Kennedy em 1964. – E estamos certos de querer isso? Ter alguém como Dick Nixon na Casa Branca seria pior para todos nós. – Então o que nós podemos fazer? – indagou Verena, indignada. – O que aconteceu lá no Sul no último mês demonstrou, sem sombra de dúvida, que a legislação tal como ela é hoje é fraca. Precisamos de uma nova lei de direitos civis. – Amém – retrucou George. – Eu talvez consiga ajudar a fazer isso acontecer – continuou Percy. – No momento, tenho uma pequena influência na Casa Branca. Se criticar os Kennedy, não terei nenhuma. Na opinião de George, Percy deveria se pronunciar. Verena exprimiu o mesmo pensamento. – Você deveria dizer o que é certo – falou. – Este país está cheio de pessoas prudentes. Foi assim que nos metemos nesta confusão. Sua mãe se ofendeu. – Seu pai é famoso por dizer o que é certo – rebateu, em tom de ultraje. – Ele arriscou o próprio pescoço em incontáveis ocasiões. George viu que Percy não se deixaria convencer. Mas talvez ele tivesse razão: uma nova lei de direitos civis que tornasse impossível para os estados sulistas oprimirem os negros talvez fosse a única solução legítima. – É melhor eu ir procurar meus pais – disse ele. – Foi uma honra conhecê-los. – Pense em ir trabalhar para Martin – gritou Verena enquanto ele se afastava. George foi até o parque no qual os diplomas de Direito seriam distribuídos. Um tablado provisório tinha sido erguido, e mesas de cavalete foram montadas debaixo de toldos para o almoço que seria servido a seguir. Não demorou a encontrar os pais. Sua mãe estava usando um vestido amarelo novo. Devia ter juntado dinheiro para adquirilo: orgulhosa, nunca permitira que os ricos Peshkov lhe comprassem coisas, só para George. Olhou de cima a baixo o filho de beca e capelo. – Nunca senti tanto orgulho na vida! – falou. Então, para espanto de George, desatou a chorar. Ele ficou surpreso; aquilo não era comum. Jacky passara os últimos 25 anos se recusando a demonstrar fraqueza. Ele passou o braço em volta da mãe. – Que sorte a minha ter você, mãe. Soltou-a delicadamente e enxugou suas lágrimas com um lenço branco. Então se virou para o pai. Como a maioria dos ex-alunos de Harvard, Greg estava usando um chapéu de palha com o ano de sua formatura impresso na faixa, 1942. – Parabéns, meu garoto – falou, apertando a mão de George.
Bem, pensou o rapaz, pelo menos ele veio. Seus avós apareceram instantes depois. Ambos eram imigrantes russos. O avô, Lev Peshkov, começara administrando bares e boates em Buffalo e agora era dono de um estúdio em Hollywood; sempre fora um dândi, e nesse dia ostentava um terno branco. George nunca soube o que pensar a seu respeito. As pessoas diziam que ele era um homem de negócios implacável, com pouco respeito pela lei. Por outro lado, Lev sempre fora gentil com o neto negro e, além de pagar seus estudos, também lhe dera uma gorda mesada. Segurou George pelo braço e disse, em tom de confidência: – Tenho apenas um conselho a lhe dar para sua carreira de advogado: não defenda criminosos. – Por quê? – Porque eles são uns perdedores. – Seu avô deu uma risadinha. Muita gente acreditava que o próprio Lev Peshkov tivesse sido um criminoso, um contrabandista de bebidas nos tempos da Lei Seca. – Todos? – perguntou George. – Os que são pegos, sim – respondeu Lev. – Os outros não precisam de advogados. – Ele riu com gosto. A avó de George, Marga, beijou-o carinhosamente. – Não preste atenção no que o seu avô diz – falou. – Tenho de prestar – retrucou George. – Ele pagou meus estudos. Lev apontou um dedo para o neto. – Que bom que você não esquece. Marga ignorou o marido. – Olhe só para você – disse para George com uma voz cheia de afeto. – Tão bonito e agora advogado! George era seu único neto e ela o mimava muito. Com certeza antes do final do dia lhe daria 50 dólares discretamente. Marga tinha sido cantora de boate, e aos 65 anos ainda se movimentava como se estivesse subindo ao palco dentro de um vestido justo. Seus cabelos pretos a essa altura deviam ser pintados. George sabia que a avó estava usando mais joias do que pedia um evento ao ar livre, mas imaginou que na condição de amante, e não de esposa, ela sentisse necessidade daqueles símbolos de status. Havia mais de cinquenta anos que Marga era amante de Lev, e Greg era o único filho do casal. Lev tinha também uma esposa, Olga, e uma filha, Daisy, que era casada com um inglês e morava em Londres. Portanto, George tinha primos ingleses que não conhecia – todos brancos, supunha. Marga beijou Jacky, e George reparou que as pessoas em volta lhes lançaram olhares de espanto e reprovação. Mesmo na liberal Harvard, era raro ver uma pessoa branca beijando
uma negra. Mas a família de George sempre atraía olhares nas raras ocasiões em que todos apareciam juntos em público. Mesmo em lugares que aceitavam todas as raças, uma família mista ainda podia trazer à tona os preconceitos latentes dos brancos. Ele sabia que, antes de o dia terminar, ouviria alguém murmurar a palavra “vira-lata”. Ignoraria o insulto. Seus avós negros já tinham morrido fazia tempo e aqueles eram seus únicos parentes vivos. Ver aquelas quatro pessoas explodindo de orgulho na sua formatura valia qualquer preço. – Almocei ontem com o velho Renshaw – falou Greg. – Convenci-o a renovar a proposta de trabalho da Fawcett Renshaw. – Ah, que maravilha! – exclamou Marga. – No fim das contas você vai mesmo ser advogado em Washington, George! Jacky abriu um raro sorriso para Greg. – Obrigada – falou. Greg ergueu um dedo em sinal de alerta. – Com algumas condições. – Ah, George vai concordar com qualquer coisa dentro dos limites do razoável – falou Marga. – É uma oportunidade excelente para ele. Apesar de saber que ela queria dizer para um rapaz negro, George não protestou. De toda forma, sua avó estava certa. – Que condições? – indagou, cauteloso. – Nada que não se aplique a qualquer advogado do mundo – respondeu Greg. – Você não pode se meter em encrenca, só isso. Um advogado não pode contrariar as autoridades. George ficou desconfiado. – Como assim, encrenca? – É só não participar de mais nenhum tipo de protesto, passeatas, manifestações, essas coisas. De toda forma, no seu primeiro ano como sócio você não vai mesmo ter tempo para essas coisas. Aquilo deixou George irritado. – Quer dizer que eu começaria minha vida profissional prometendo não fazer nada em prol da causa da liberdade. – Não veja as coisas assim – falou seu pai. George engoliu uma resposta irada. Sabia que a família só queria o melhor para ele. Tentando manter um tom de voz neutro, perguntou: – E como eu deveria ver as coisas? – O seu papel no movimento em defesa dos direitos civis não seria o de um soldado da linha de frente, só isso. Apoie a causa. Mande um cheque uma vez por ano para a NAACP. – A Associação Nacional para o Desenvolvimento das Pessoas Negras, o mais antigo e conservador grupo de direitos civis, havia contestado os Viajantes da Liberdade por considerá-los provocadores demais. – Fique na sua e pronto. Deixe outras pessoas subirem no ônibus.
– Pode ser que haja outro jeito – disse George. – E qual seria? – Eu poderia ir trabalhar para Martin Luther King. – Ele lhe ofereceu um emprego? – Fui sondado. – E quanto ele pagaria? – Não muito, imagino. – Não pense que você pode recusar um ótimo emprego e depois vir me pedir mesada – falou Lev. – Tudo bem, vovô – disse George, embora fosse exatamente isso que estivesse pensando. – Mas acho que vou aceitar mesmo assim. Sua mãe se meteu na conversa: – Ah, George, não faça isso – Ia falar mais, porém os formandos foram chamados para fazer a fila e pegar os diplomas. – Vá lá. Conversaremos melhor depois. George se afastou da família e foi ocupar seu lugar na fila. A cerimônia começou e ele foi avançando. Lembrou-se de quando havia trabalhado na Fawcett Renshaw no verão anterior. O Sr. Renshaw se considerava um herói liberal por ter contratado um assistente jurídico negro, mas George recebera atribuições tão fáceis que chegavam a ser humilhantes, até para um estagiário. Fora paciente e ficara de olhos abertos para uma oportunidade, até que uma surgira de fato. Tinha feito uma pesquisa jurídica que permitira ao escritório ganhar uma causa, o que lhe valera uma oferta de emprego depois que se formasse. Aquele tipo de coisa acontecia muito com ele. O mundo partia do princípio de que um aluno de Harvard devia ser inteligente e capaz – a menos que fosse negro; nesse caso, a regra não se aplicava. George tivera de passar a vida inteira provando que não era idiota, o que o deixava ressentido. Se algum dia tivesse filhos, sua esperança era que eles crescessem em um mundo diferente. Chegou sua vez. Quando subiu o curto lance de escada que levava ao tablado, ficou surpreso ao ouvir sibilos. Sibilar era uma tradição em Harvard, geralmente usada contra professores que davam aulas ruins ou eram grosseiros com os alunos. George ficou tão horrorizado que parou no meio da escada e olhou para trás. Seu olhar cruzou com o de Joseph Hugo. Hugo não era o único – os sibilos estavam altos demais para isso –, mas George teve certeza de que fora ele o responsável por orquestrar aquilo. Sentiu-se detestado. Era humilhação demais para que subisse no tablado. Ficou ali, imóvel, e o sangue lhe subiu às faces. Então alguém começou a bater palmas. George correu os olhos pelas fileiras de assentos e viu um professor em pé: era Merv West, um dos mais jovens do corpo docente. Outros seguiram seu exemplo e também aplaudiram, e as palmas logo abafaram os sibilos. Várias outras pessoas se levantaram. George imaginou que até mesmo quem não sabia quem ele era
tinha adivinhado, por causa do braço engessado. Tornou a reunir coragem e subiu no tablado. Gritos de incentivo ecoaram quando recebeu o diploma. Ele se virou devagar para encarar a plateia e agradeceu as palmas com um modesto meneio de cabeça. Então desceu. Quando se juntou aos outros alunos, seu coração parecia querer explodir. Vários homens apertaram sua mão em silêncio. Ele estava ao mesmo tempo horrorizado com os sibilos e exultante com as palmas. Percebeu que estava suando e secou o rosto com um lenço. Que calvário. Assistiu ao resto da formatura em meio a uma névoa, agradecido por ter tempo para se recuperar. Quando o choque provocado pelos sibilos passou, pôde ver que os responsáveis tinham sido Hugo e um punhado de malucos de direita, e que o restante da Harvard liberal o havia homenageado. Eu deveria sentir orgulho, pensou. Os alunos se juntaram às suas famílias para almoçar. A mãe de George lhe deu um abraço. – Eles aplaudiram você – disse ela. – Foi. Mas no começo parecia que ia ser outra coisa. Ele abriu os braços em um gesto de súplica. – Como posso não participar dessa luta? – indagou. – Eu quero muito o emprego na Fawcett Renshaw e quero agradar à família que me apoiou durante todos esses anos de estudos... mas não é só isso. E se eu tiver filhos? – Seria ótimo! – exclamou Marga. – Mas, vó, meus filhos vão ser negros. Em que tipo de mundo irão crescer? Será que vão ser americanos de segunda classe? A conversa foi interrompida por Merv West, que apertou a mão de George e o parabenizou pela formatura. O professor estava vestido um pouco aquém do que pedia a ocasião, com um terno de tweed e sem gravata. – Obrigado por puxar as palmas, professor – falou George. – Não precisa agradecer, você mereceu. George apresentou a família. – Estávamos aqui justamente conversando sobre o meu futuro. – Espero que ainda não tenha tomado nenhuma decisão definitiva. George ficou curioso. O que significaria aquilo? – Ainda não – respondeu. – Por quê? – Tenho conversado com o secretário de Justiça Bobby Kennedy... ele se formou em Harvard, como você sabe. – Espero que tenha dito a ele que a sua forma de lidar com o que aconteceu no Alabama foi uma desgraça nacional. West abriu um sorriso triste. – Não foram exatamente as palavras que usei. Mas ele e eu concordamos que a reação do governo foi inadequada.
– Muito. Não posso imaginar que ele... – George interrompeu a frase quando algo lhe ocorreu. – O que isso tem a ver com decisões sobre o meu futuro? – Bobby decidiu contratar um jovem advogado negro, para o gabinete do secretário ter um ponto de vista negro sobre os direitos civis. Ele me perguntou se eu teria alguém para indicar. George ficou tonto por alguns segundos. – Está dizendo que... West ergueu a mão em um gesto de alerta. – Não estou lhe oferecendo o emprego... só Bobby pode fazer isso. Mas posso conseguir a entrevista para você, se quiser. – George! – exclamou Jacky. – Trabalhar com Bobby Kennedy! Seria fantástico! – Mãe, os Kennedy nos decepcionaram muito. – Então vá trabalhar com Bobby para mudar isso! George hesitou. Olhou para as expressões animadas à sua volta: a mãe, o pai, a avó, o avô, depois tornou a olhar para a mãe. – Pode ser – falou, por fim.
CAPÍTULO OITO
Dimka Dvorkin estava arrasado por ainda ser virgem aos 22 anos. Havia namorado várias garotas na universidade, mas nenhuma delas o deixara ir até o fim. De toda forma, não tinha certeza de que deveria. Ninguém chegara a lhe dizer que o sexo deveria fazer parte de um relacionamento amoroso de longo prazo, mas ele meio que sentia isso mesmo assim. Nunca experimentara aquela pressa louca de transar que alguns rapazes tinham. Mesmo assim, sua falta de experiência já estava virando um constrangimento. Seu amigo Valentin Lebedev era o oposto. Alto e seguro de si, tinha cabelos negros, olhos azuis e charme para dar e vender. Ao final do primeiro ano na Universidade de Moscou, já tinha ido para a cama com a maioria das alunas e com uma professora do departamento de Política. Bem no início de sua amizade, Dimka lhe perguntara: – O que você faz para... enfim, para evitar a gravidez? – Isso é problema da garota, não é? – retrucou Valentin com descaso. – Se o pior acontecer, fazer um aborto não é tão difícil assim. Ao conversar com outros amigos, Dimka descobriu que muitos rapazes soviéticos tinham a mesma atitude. Homens não engravidavam, então aquilo não era problema deles; além do mais, o aborto era legalizado até doze semanas de gestação. Mas não conseguia se sentir à vontade com o comportamento de Valentin, talvez porque sua irmã o desdenhasse tanto. O principal interesse de Valentin era o sexo; os estudos vinham em segundo lugar. Com Dimka acontecia o contrário – por isso ele era assessor no Kremlin, ao passo que Valentin trabalhava para o Departamento de Parques e Jardins de Moscou. Foi graças aos seus contatos no trabalho que, em julho de 1961, Valentin conseguiu fazer os dois irem passar uma semana no VI Acampamento de Férias Lênin para Jovens Comunistas. O acampamento tinha um quê de militar, com barracas armadas em fileiras bem retas e toque de recolher às dez e meia, mas havia uma piscina, um lago para andar de barco e pencas de garotas; uma semana lá era um privilégio muito cobiçado. Dimka sentia que merecia umas férias. A Cúpula de Viena tinha sido uma vitória para a União Soviética, e parte do crédito era sua. Na verdade, Viena começara mal para Kruschev. Kennedy e sua estonteante esposa tinham chegado à cidade a bordo de uma frota de limusines enfeitadas com dezenas de bandeiras dos Estados Unidos. Quando os dois líderes se encontraram, espectadores de TV de todas as partes do mundo viram que Kennedy era vários centímetros mais alto e dominava Kruschev, espiando por baixo da ponta do nariz de aristocrata o cocuruto careca do russo. Seus ternos de alfaiataria e gravatas fininhas faziam Kruschev parecer um camponês endomingado. Os Estados Unidos tinham saído vitoriosos de um concurso de glamour do qual a URSS nem
sequer sabia que estava participando. Começadas as discussões, porém, Kruschev havia dominado a situação. Quando Kennedy tentou ter uma conversa amigável, como entre dois homens sensatos, o premiê soviético pôs-se a falar alto e ficou agressivo. Kennedy sugeriu que não era lógico a URSS incentivar o comunismo em países do Terceiro Mundo e depois protestar, indignada, quando os Estados Unidos tentavam fazer o comunismo recuar na esfera soviética. Com desdém, Kruschev retrucou que a expansão do comunismo era historicamente inevitável, e nada que nenhum dos dois líderes pudesse fazer iria impedir isso. Kennedy, que não conhecia muito bem a filosofia marxista, não soubera o que dizer. A estratégia desenvolvida por Dimka e outros conselheiros saíra vitoriosa. De volta a Moscou, Kruschev ordenou a distribuição de dezenas de exemplares das atas da cúpula, não apenas no bloco soviético, mas para líderes de países tão distantes quando Camboja e México. Desde então, Kennedy se mantivera calado e nem sequer reagira à ameaça de Kruschev de ocupar a parte ocidental de Berlim. E Dimka saíra de férias. No primeiro dia, vestiu suas roupas novas: camisa quadriculada de mangas curtas e um short que a mãe havia feito reaproveitando a calça meio gasta de um terno de sarja azul. – Esse short está na moda no Ocidente? – perguntou Valentin. Dimka riu. – Que eu saiba, não. Enquanto o amigo se barbeava, ele foi comprar mantimentos. Assim que saiu, ficou feliz ao ver, bem ali ao lado, uma moça acendendo o pequeno fogareiro portátil do qual eram providas todas as barracas. Era um pouco mais velha do que Dimka, uns 27 anos, avaliou ele. Tinha cabelos castanho-avermelhados fartos e curtos, e um rosto sardento e atraente. Estava vestida de modo extremamente estiloso, com uma blusa laranja e uma calça preta que acabava logo abaixo do joelho. – Oi! – disse Dimka, sorrindo. Ela ergueu os olhos para ele. – Quer ajuda com isso? Ela acendeu o fogareiro com um fósforo e entrou na barraca sem dizer nada. Bem, não é com ela que eu vou perder a virgindade, pensou Dimka, e se afastou. Comprou ovos e pão na loja ao lado do pavilhão de banheiros comunitários. Quando voltou, havia duas garotas em frente à barraca ao lado: aquela primeira com quem ele tinha falado e uma loura bonita de corpo esguio. A loura usava uma calça preta do mesmo tipo que a da amiga, só que com uma blusa rosa. Valentin estava conversando com elas e ambas riam. Ele as apresentou a Dimka. A ruiva se chamava Nina e, embora ainda parecesse reservada, não fez qualquer referência ao primeiro encontro que tiveram mais cedo. A loura se chamava Anna e ficou claro que era a mais extrovertida, sempre sorridente e jogando os cabelos para trás com um gesto gracioso. Dimka e Valentin tinham levado uma frigideira de ferro na qual pretendiam fazer toda a sua comida, e Dimka a enchera com água para ferver os ovos; as moças, no entanto, estavam mais bem equipadas, e Nina pegou os ovos para preparar blinis.
Aquilo parecia promissor, pensou Dimka. Enquanto comiam, ficou observando Nina. O nariz estreito, a boca pequena e o queixo delicado e pontudo lhe davam um ar distante, como se estivesse sempre avaliando as coisas. Mas ela era voluptuosa, e Dimka sentiu a garganta seca ao pensar que talvez fosse vê-la de maiô. – Dimka e eu vamos pegar um barco e remar até a outra margem do lago – disse Valentin. Era a primeira vez que Dimka ouvia falar nesse plano, mas não contestou. – Por que não vamos os quatro juntos? Podemos levar comida e fazer um piquenique. Aquilo não podia ser tão fácil assim, pensou Dimka. Eles haviam acabado de se conhecer! As moças se entreolharam por um instante, como se conversassem por telepatia, e então Nina falou depressa: – Vamos ver. Primeiro vamos tirar a mesa. Ela começou a recolher pratos e talheres. Foi decepcionante, mas talvez o assunto não estivesse encerrado. Dimka se ofereceu para levar a louça suja até o pavilhão dos banheiros. – Onde você arrumou esse short? – perguntou Nina enquanto caminhavam. – Minha mãe que fez. Ela riu. – Que graça. Dimka se perguntou o que sua irmã poderia estar querendo dizer se falasse aquilo para um homem, e concluiu que significava que ele era gentil, mas não atraente. O pavilhão de concreto abrigava toaletes, chuveiros e grandes pias comunitárias. Dimka ficou olhando Nina lavar a louça. Tentou pensar em coisas para dizer, mas nada lhe ocorreu. Se ela lhe perguntasse sobre a crise em Berlim, ele poderia passar o dia inteiro falando. Mas não tinha dom algum para a fieira de bobagens que Valentin sabia fazer jorrar da boca sem qualquer esforço. Depois de algum tempo, conseguiu articular: – Você e Anna são amigas há muito tempo? – Trabalhamos juntas – respondeu Nina. – Nós duas trabalhamos na administração da sede do sindicato dos metalúrgicos em Moscou. Eu me divorciei há um ano e Anna estava procurando alguém com quem dividir apartamento, então agora moramos juntas. Divorciada, pensou Dimka; isso queria dizer que ela era sexualmente experiente. Sentiu-se intimidado. – Como era o seu marido? – Ele é um merda – respondeu Nina. – Não gosto de falar dele. – Tudo bem. – Desesperado, ele tentou encontrar alguma coisa inofensiva para dizer. – Anna parece uma moça bem simpática – arriscou. – Ela conhece muita gente. Parecia um comentário estranho de se fazer sobre uma amiga. – Como assim?
– O pai dela nos arrumou estas férias. Ele é o secretário do sindicato para o distrito de Moscou. Ela parecia sentir orgulho disso. Dimka levou a louça limpa de volta para as barracas. Quando chegaram, Valentin falou, alegre: – Fizemos sanduíches... presunto com queijo. Anna olhou para Nina e fez um gesto de impotência, como quem avisa que fora incapaz de frear o rolo compressor que era Valentin, mas ficou claro para Dimka que ela na verdade não quisera detê-lo. Nina deu de ombros e assim ficou decidido que os quatro fariam o piquenique. Tiveram de fazer fila para pegar um barco, mas os moscovitas estavam acostumados com filas, e no final da manhã já navegavam pelas águas claras e geladas. Valentin e Dimka se revezavam nos remos enquanto as moças tomavam sol. Ninguém pareceu achar necessário jogar conversa fora. Do outro lado do lago, amarraram o barco em uma prainha. Valentin tirou a camisa e Dimka o imitou. Anna tirou a blusa e a calça; por baixo estava usando uma roupa de banho azul-celeste de duas peças. Dimka sabia que aquilo se chamava biquíni e estava na moda no Ocidente, mas era a primeira vez que via um, e ficou constrangido com a própria excitação. Quase não conseguiu desgrudar os olhos daquela barriga chapada lisinha e daquele umbigo. Para sua decepção, Nina ficou de roupa. Eles comeram os sanduíches e Valentin sacou uma garrafa de vodca. Dimka sabia que a loja da colônia de férias não vendia álcool. – Comprei do supervisor dos barcos – explicou Valentin. – Ele montou uma pequena operação capitalista. Dimka não se espantou: a maioria das coisas que as pessoas realmente queriam era vendida no mercado negro, de televisores a calças jeans. A garrafa passou de mão em mão e as moças beberam goles generosos. Nina secou a boca com as costas da mão. – Vocês dois trabalham juntos no Parques e Jardins? – Não – respondeu Valentin, rindo. – Dimka é inteligente demais para isso. – Eu trabalho no Kremlin – falou Dimka. Nina ficou impressionada. – O que você faz lá? Ele não gostava muito de dizer, porque parecia que estava se gabando. – Sou assessor do primeiro-secretário. – Do camarada Kruschev?! – indagou Nina, pasma. – Isso. – Como conseguiu um emprego assim? – Ele é inteligente, já falei. Foi o melhor aluno de todas as turmas.
– Ninguém consegue um emprego assim só tirando boas notas – disse Nina, seca. – Quem você conhece? – Meu avô, Grigori Peshkov, invadiu o Palácio de Inverno na Revolução de Outubro. – Isso não garante um bom emprego. – Bom, meu pai era da KGB; ele morreu ano passado. Meu tio é general. E eu sou mesmo inteligente. – E modesto – disse ela, mas seu sarcasmo soou bem-humorado. – Qual é o nome do seu tio? – Vladimir Peshkov. Na família ele é chamado de Volodya. – Já ouvi falar no general Peshkov. Quer dizer então que ele é seu tio... Com uma família dessas, como é que você usa um short costurado em casa? Dimka ficou confuso. Pela primeira vez Nina se mostrava interessada nele, mas não conseguia saber se era por admiração ou por desdém. Talvez fosse apenas o jeito dela. Valentin se levantou. – Venha, vamos explorar – falou para Anna. – Vamos deixar esses dois aqui conversando sobre o short que Dimka está usando. – Ele estendeu a mão. Anna a segurou e deixou que ele a puxasse até pô-la de pé. Os dois então se afastaram de mãos dadas em direção à mata. – Seu amigo não gosta de mim – falou Nina. – Mas gosta de Anna. – Ela é bonita. – E você é linda – retrucou Dimka baixinho. Não havia planejado dizer isso, simplesmente saiu. Mas era verdade. Nina o encarou, pensativa, como se o estivesse reavaliando. Então perguntou: – Quer nadar? Dimka não gostava muito de água, mas queria vê-la de maiô. Tirou a roupa; estava de calção por baixo do short. Nina usava um maiô inteiro de náilon marrom em vez de biquíni, mas o preenchia tão bem que Dimka não ficou desapontado. Ela era o oposto da esbelta Anna: tinha seios fartos, quadris largos e um pescoço todo sardento. Reparou no olhar dele sobre seu corpo, virou-lhes as costas e correu para a água. Dimka foi atrás. Apesar do sol, o lago estava gelado, mas mesmo assim ele gostou do contato sensual da água em seu corpo. Os dois nadaram vigorosamente para se aquecer. Foram até o meio do lago, depois voltaram para a margem mais devagar. Pararam antes de chegar à praia, e Dimka deixou os pés alcançarem o fundo. A água batia em suas cinturas. Ele olhou para os seios de Nina: a água fria fazia seus mamilos se contraírem e ficarem aparentes por baixo do maiô. – Pare de olhar – disse ela, jogando água na cara dele de brincadeira. Ele revidou.
– Então tá! – exclamou ela, e o segurou pela cabeça para tentar lhe dar um caldo. Dimka se debateu e a segurou pela cintura. Os dois lutaram dentro d’água. Embora fosse pesado, o corpo de Nina era firme, e ele apreciou aquela solidez. Passou os dois braços em volta dela e tirou seus pés do chão. Quando ela se debateu, rindo e tentando se soltar, ele a puxou com mais firmeza para junto de si e sentiu no rosto o contato de seus seios macios. – Eu me rendo! – gritou ela. A contragosto, ele a recolocou no chão. Por um instante, os dois se entreolharam e ele viu nos olhos dela uma centelha de desejo. Alguma coisa havia mudado sua atitude em relação a ele: a vodca, a consciência de que ele era um poderoso apparatchik, a empolgação da brincadeira na água, ou talvez as três coisas juntas. Não fazia diferença: ele viu o convite no sorriso dela e lhe deu um beijo na boca. Ela retribuiu com entusiasmo. Perdido nas sensações provocadas pelos lábios e pela língua dela, ele esqueceu a água fria, mas alguns minutos depois Nina estremeceu e disse: – Vamos sair. Ele lhe deu a mão enquanto atravessavam a água rasa até o seco. Deitaram-se na grama lado a lado e voltaram a se beijar. Dimka tocou seus seios e começou a pensar se aquele seria o dia em que iria perder a virginidade. Então foram interrompidos por uma voz dura que saiu de um megafone: – Levem os barcos de volta para o cais! Seu tempo acabou! – É a polícia do sexo – murmurou Nina. Apesar da decepção, Dimka riu. Ao erguer os olhos, viu um bote de borracha com motor de popa passando a uns 100 metros da margem. Acenou para avisar que tinham escutado. Eles podiam ficar com o barco por duas horas. Supunha que um suborno ao supervisor poderia ter lhes garantido uma extensão de prazo, mas não havia pensado nisso antes. Na verdade, nem sequer sonhava que sua situação com Nina fosse evoluir tão depressa. – Não podemos voltar sem os outros – disse ela, mas segundos depois Valentin e Anna surgiram da mata. Deviam estar bem ali por perto, pensou Dimka, e também tinham escutado o aviso pelo megafone. Os rapazes se afastaram um pouco das moças e todos vestiram as roupas por cima dos trajes de banho. Dimka ouviu Nina e Anna conversando em voz baixa, Anna em tom urgente, e Nina dando risadinhas e concordando com meneios de cabeça. Então Anna encarou Valentin com um olhar significativo. Aquilo parecia ser um sinal combinado de antemão. Valentin assentiu e virou-se para Dimka. Bem baixinho, falou: – Vamos os quatro ao baile de dança folclórica hoje à noite. Quando voltarmos, Anna vai para a nossa barraca comigo. E você vai para a delas com Nina. Tudo bem?
Estava mais do que tudo bem: aquilo era incrível. – Você combinou tudo com Anna? – Combinei, e Nina acabou de concordar. Dimka mal pôde acreditar. Seria capaz de passar a noite inteira abraçando aquele corpo rijo. – Ela gosta de mim! – Deve ser o short. Eles subiram no barco e remaram de volta. As moças anunciaram que iriam tomar uma ducha assim que chegassem. Dimka ficou pensando em como poderia fazer o tempo passar depressa até a noite. Quando chegaram ao deque, viram um homem de terno preto à sua espera. Por instinto, Dimka soube que era um mensageiro para ele. Eu deveria ter desconfiado, pensou, pesaroso; tudo estava indo bem demais. Todos desceram do barco. Nina olhou para o homem que suava dentro do terno e perguntou: – Nós vamos ser presos por ficar tempo demais com o barco? Não era de todo uma brincadeira. – O senhor quer falar comigo? – indagou Dimka. – Sou Dmitri Dvorkin. – Sim, Dmitri Ilich – respondeu o homem, respeitoso, usando seu patronímico. – Sou o seu motorista. Vim levá-lo para o aeroporto. – Qual é a emergência? O sujeito deu de ombros. – O primeiro-secretário quer falar com o senhor. – Vou pegar minhas coisas – disse Dimka, a contragosto. Para seu parco consolo, Nina estava embasbacada.
O carro levou Dimka até o aeroporto de Vnukovo, a sudoeste de Moscou, onde Vera Pletner o aguardava com um envelope grande na mão e uma passagem para Tbilisi, capital da república socialista soviética da Geórgia. Kruschev não estava em Moscou, mas sim em sua dacha, a residência secundária que tinha em Pitsunda, balneário no mar Negro apreciado pelos altos funcionários do governo; era para lá que Dimka estava indo. Era a primeira vez que andava de avião. Não era o único assessor cujas férias tinham sido interrompidas. No salão de embarque, prestes a abrir o envelope, foi abordado por Yevgeny Filipov; apesar do clima de verão, o outro assessor usava sua habitual camisa de flanela cinza. Tinha um ar satisfeito, o que não podia ser bom sinal.
– Sua estratégia fracassou – disse ele para Dimka com evidente satisfação. – O que houve? – O presidente Kennedy fez um pronunciamento na televisão. Kennedy passara sete semanas calado, desde a Cúpula de Viena. Os Estados Unidos não haviam reagido à ameaça de Kruschev de assinar um tratado com a Alemanha Oriental e retomar a parte ocidental de Berlim. Dimka imaginara que o presidente americano estivesse acovardado demais para enfrentar Kruschev. – Sobre o quê? – Ele disse para o povo americano se preparar para uma guerra. Então era essa a emergência. O embarque foi anunciado. – O que Kennedy falou exatamente? – perguntou Dimka. – Falando sobre Berlim, ele disse: “Um ataque àquela cidade será considerado um ataque a todos nós.” A íntegra do discurso está aí dentro do seu envelope. Quando eles embarcaram, Dimka ainda estava usando seu short de férias. O avião era um jato Tupolev Tu-104. Dimka olhou pela janela durante a decolagem. Sabia como funcionavam as aeronaves, entendia como a superfície superior curva das asas criava uma diferença na pressão do ar, mas mesmo assim pareceu-lhe magia quando o avião subiu aos ares. Por fim, forçou-se a desgrudar os olhos lá de fora e abriu o envelope. Filipov não tinha exagerado. Kennedy não estava apenas fazendo bravatas ameaçadoras. Propunha triplicar o alistamento obrigatório, convocar os reservistas e aumentar o Exército americano para um milhão de homens. Estava preparando um novo corredor aéreo até Berlim, transferindo seis divisões para a Europa e planejando sanções econômicas a países-membros do Pacto de Varsóvia. Além disso, havia aumentado o orçamento militar em mais de três bilhões de dólares. Dimka percebeu que a estratégia planejada por Kruschev e seus assessores tinha sido um fracasso retumbante. Todos eles haviam subestimado o belo e jovem presidente. No final das contas, Kennedy não se deixara intimidar. O que Kruschev poderia fazer? Talvez ele fosse obrigado a renunciar. Nenhum líder soviético jamais fizera isso – tanto Lênin quanto Stalin tinham morrido no poder –, mas na política revolucionária sempre havia uma primeira vez para tudo. Dimka leu o discurso duas vezes e passou o resto da viagem de duas horas refletindo a respeito. Só havia uma alternativa à renúncia de Kruschev, pensou: demitir todos os assessores, arrumar novos conselheiros e reformular o Presidium, dando mais poder a seus inimigos, como reconhecimento de que ele estava errado e garantia de buscar conselhos mais sensatos no futuro. De toda forma, era o fim da curta carreira de Dimka no Kremlin. Talvez aquilo tivesse sido
ambicioso demais, pensou ele, pessimista. Sem dúvida um futuro mais modesto o aguardava. Pensou se a voluptuosa Nina ainda iria querer passar a noite com ele. O voo pousou em Tbilisi, e uma pequena aeronave militar levou Dimka e Filipov até uma pista de pouso no litoral. Natalya Smotrov, do Ministério das Relações Exteriores, os aguardava lá. O ar úmido da beira-mar deixara seus cabelos encaracolados, o que lhe dava um aspecto libertino. – Más notícias de Pervukhin – disse ela enquanto os acompanhava para longe do avião. Mikhail Pervukhin era o embaixador soviético na Alemanha Oriental. – O fluxo de emigrantes para o Ocidente virou uma enxurrada. Filipov fez cara de irritação, decerto porque Natalya não tinha lhe dado aquela notícia antes. – De que números estamos falando? – Quase mil pessoas por dia. Dimka ficou estarrecido. – Mil por dia? Natalya assentiu. – Pervukhin disse que o governo da Alemanha Oriental não é mais estável. O país está à beira do colapso. Há risco de levante popular. – Está vendo? – disse Filipov para Dimka. – Foi isso que a sua política causou. Dimka não soube o que responder. Natalya avançou pela estrada à beira-mar até uma península arborizada e entrou por um imenso portão de ferro aberto em um longo muro de estuque. Entre gramados perfeitos erguiase uma mansão branca com uma varanda comprida no andar superior. Ao lado da casa, uma piscina olímpica. Dimka nunca tinha visto uma casa com piscina particular. – Ele está na beira do mar – disse um guarda a Dimka, meneando a cabeça em direção ao outro extremo da casa. Dimka avançou por entre as árvores até uma praia de seixos. Um soldado com uma metralhadora lançou-lhe um olhar duro quando ele passou. Encontrou Kruschev debaixo de uma palmeira. O segundo homem mais poderoso do mundo era baixo, gordo, careca e feio. Usava uma calça social presa por suspensórios e uma camisa branca com as mangas arregaçadas. Estava sentado em uma cadeira de praia feita de vime, e sobre uma mesinha à sua frente havia uma jarra d’água e um copinho de vidro. Não parecia estar fazendo nada. Olhou para Dimka e perguntou: – Onde arrumou esse short? – Foi minha mãe quem costurou. – Eu deveria ter um short. Dimka disse as palavras que havia ensaiado: – Camarada primeiro-secretário, quero apresentar minha demissão.
Kruschev o ignorou. – Nos próximos vinte anos, nós vamos ultrapassar os Estados Unidos tanto em poderio militar quanto em prosperidade econômica – falou, como quem continua uma conversa já em andamento. – Mas, enquanto isso, como vamos impedir a potência mais forte de dominar a política mundial e conter a expansão do comunismo? – Não sei – respondeu o rapaz. – Observe – disse Kruschev. – Eu sou a União Soviética. – Empunhando a jarra, ele serviu água no copinho devagar até a borda. Então passou a jarra para Dimka. – Você é os Estados Unidos. Agora sirva água no copo. Dimka fez o que ele mandava. O copo transbordou, e a água encharcou a toalha branca da mesa. – Está vendo? – indagou Kruschev, como se houvesse conduzido uma demonstração. – Quando o copo já está cheio, não é possível enchê-lo mais sem fazer lambança. Dimka não entendeu nada. Fez a pergunta esperada: – Qual é o significado disso, Nikita Sergueievitch? – A política internacional é como um copo. Movimentos agressivos de qualquer parte despejam mais água. O transbordamento é a guerra. Dimka então entendeu. – Quando a tensão já está no máximo, ninguém pode fazer movimento nenhum sem provocar uma guerra. – Muito bem. E os americanos não querem uma guerra, assim como nós não queremos. Portanto, se mantivermos a tensão internacional no máximo e o copo cheio até a borda, o presidente americano ficará impotente. Como não pode agir sem provocar uma guerra, será obrigado a não fazer nada! Dimka percebeu que o raciocínio era brilhante, e demonstrava como a potência mais fraca podia levar a melhor. – Quer dizer que Kennedy agora não pode fazer nada? – indagou. – Porque o próximo movimento dele é uma guerra! Será que aquele era o plano de Kruschev desde o início?, perguntou-se Dimka. Ou será que ele tinha apenas inventado tudo aquilo depois, para se justificar? O premiê era acima de tudo um improvisador. Pouco importava. – Mas então o que vamos fazer em relação à crise de Berlim? – indagou. – Nós vamos construir um muro – respondeu Kruschev.
CAPÍTULO NOVE
George Jakes levou Verena Marquand para almoçar no Jockey Club. Na realidade não se tratava de um clube, mas de um novo e chique restaurante no Hotel Fairfax que caíra nas graças da turma de Kennedy. George e Verena eram o casal mais bem-arrumado do lugar, ela deslumbrante em um vestido quadriculado de guingão com um largo cinto vermelho, ele com um blazer de linho azul-escuro de alfaiataria e gravata listrada. Mesmo assim, foram postos em uma mesa junto à porta da cozinha. Washington era uma cidade integrada, mas não desprovida de preconceitos. George não se deixou abalar. Verena estava na cidade com os pais. O casal fora convidado à Casa Branca mais tarde nesse dia para um coquetel de agradecimento aos grandes doadores de campanha como os Marquand – e, como George sabia, também para garantir seu apoio nas eleições seguintes. Verena olhou em volta com ar de apreciação. – Faz muito tempo que não vou a um restaurante decente – comentou. – Atlanta é um deserto. Filha de astros de Hollywood, ela fora criada achando que o luxo era normal. – Você deveria se mudar para cá – disse-lhe George, fitando seus olhos verdes cativantes. O vestido sem mangas valorizava a perfeição de sua pele cor de café com leite, e Verena com certeza sabia disso. Se ela se mudasse para Washington, ele sem dúvida a chamaria para sair. Estava tentando esquecer Maria Summers. Agora namorava Norine Latimer, estudante de história que trabalhava como secretária no Museu de História Americana. Ela era bonita e inteligente, mas o namoro não estava dando certo: ele ainda pensava em Maria o tempo todo. Talvez Verena fosse uma cura mais eficaz. Naturalmente, guardou esse pensamento para si. – Lá na Geórgia você está longe de tudo – falou. – Nem tanto – retrucou ela. – Eu trabalho para Martin Luther King. Ele vai mudar os Estados Unidos mais do que John F. Kennedy. – Isso porque o Dr. King só trata de uma questão: os direitos civis. O presidente cuida de cem. Ele é o defensor do mundo livre. No momento, sua maior preocupação é Berlim. – Curioso, não? Ele acredita na liberdade e na democracia para a população de Berlim Oriental, mas não para os negros americanos do Sul do próprio país. George sorriu. Verena era sempre combativa. – Não se trata só de acreditar – disse ele. – Trata-se do que ele pode realizar. Ela deu de ombros. – E que diferença você pode fazer? – O Departamento de Justiça emprega 950 advogados. Antes de eu chegar, só dez eram
negros. Eu represento uma melhoria de dez por cento. – E o que você já conseguiu fazer? – O departamento está sendo duro com a Comissão de Comércio Interestadual. Bobby pediu a eles para banir a segregação no serviço de ônibus. – E o que o leva a pensar que essa legislação vai ser mais aplicada do que todas as anteriores? – Não muita coisa, até agora. – George estava frustrado, mas queria esconder de Verena o quanto. – Tem um cara chamado Dennis Wilson, um jovem advogado branco da equipe pessoal de Bobby, que me vê como uma ameaça e me deixa de fora das reuniões realmente importantes. – Mas como é possível? Você foi contratado por Robert Kennedy. Ele não quer ouvir sua opinião? – Preciso conquistar a confiança de Bobby. – Você é um enfeite – disse ela com desdém. – Com sua presença lá, Bobby pode dizer ao mundo que um negro lhe dá conselhos sobre direitos civis. Ele não precisa escutar o que você diz. George temia que ela tivesse razão, mas não deu o braço a torcer: – Isso depende de mim. Eu preciso fazê-lo escutar. – Vá para Atlanta – disse ela. – A vaga com o Dr. King continua aberta. George fez que não com a cabeça. – Minha carreira é aqui. – Lembrou-se do que Maria dissera e repetiu para Verena: – Os manifestantes podem ter um forte impacto, mas no fim das contas quem transforma o mundo são os governos. – Alguns sim, outros não – falou ela. Ao saírem, encontraram Jacky à sua espera no saguão do hotel. George havia combinado encontrar a mãe ali, mas não imaginava que ela fosse esperar do lado de fora do restaurante. – Por que não entrou para se juntar a nós? – indagou. Jacky ignorou a pergunta e se dirigiu a Verena: – Nós nos conhecemos rapidamente no dia da formatura em Harvard – falou. – Como vai, Verena? – Estava se esforçando para ser educada, o que George sabia ser um sinal de que ela na verdade não gostava da moça. Ele acompanhou Verena até um táxi e se despediu dela com um beijo na bochecha. – Foi um prazer rever você – falou. Ele e a mãe seguiram a pé até o Departamento de Justiça. Ela queria ver onde o filho trabalhava. George havia combinado sua visita em um dia tranquilo: Bobby Kennedy estava na sede da CIA em Langley, Virgínia, a pouco mais de 10 quilômetros do centro da cidade. Jacky havia tirado uma folga do trabalho. Estava vestida à altura da ocasião, com chapéu e luvas, como quem vai à igreja. Enquanto caminhavam, George perguntou: – O que você acha de Verena?
– É uma moça linda – respondeu Jacky. – Você iria gostar das opiniões políticas dela – falou George. – Você e Kruschev. – Ele estava exagerando, mas tanto Verena quanto Jacky eram ultraliberais. – Ela acha que os cubanos têm o direito de serem comunistas se quiserem. – E têm mesmo – disse Jacky, provando que ele estava certo. – Do que você não gosta nela, então? – De nada. – Mãe, nós homens não somos muito intuitivos, mas passei minha vida inteira estudando você e sei quando tem reservas. Ela sorriu e tocou afetuosamente o braço do filho. – Você está atraído e posso entender por quê: ela é uma moça irresistível. Não quero falar mal de alguém de quem você gosta, mas... – Mas o quê? – Talvez seja difícil ser casado com Verena. Tenho a sensação de que ela pensa em si mesma em primeiro, segundo e terceiro lugar. – Você a acha egoísta. – Egoístas somos todos. Eu a acho mimada. George assentiu e tentou não se ofender. Sua mãe provavelmente estava certa. – Não precisa se preocupar – falou. – Ela está decidida a continuar em Atlanta. – Bom, talvez seja melhor assim. Eu só quero que você seja feliz. O Departamento de Justiça ficava em um prédio grandioso, em estilo clássico, situado bem em frente à Casa Branca. Jacky pareceu inflar um pouco de orgulho quando eles entraram. Agradava-lhe que o filho trabalhasse em um lugar tão prestigioso. George gostou de sua reação. Jacky tinha esse direito: dedicara sua vida a ele, e aquela era a sua recompensa. Entraram no Grande Hall. Jacky gostou dos célebres murais com cenas da vida americana, mas olhou torto para a estátua de alumínio do Espírito da Justiça, que mostrava uma mulher com um dos seios nu. – Não sou pudica, mas não vejo por que a Justiça precisa estar com o busto de fora – comentou. – Por que isso? George refletiu. – Para mostrar que a Justiça não tem nada a esconder? Sua mãe riu. – Boa tentativa. Eles subiram no elevador. – Como está seu braço? – indagou Jacky. Ele já havia tirado o gesso e não precisava mais de tipoia. – Ainda dói – respondeu. – Tenho achado que ficar com a mão esquerda no bolso ajuda. Dá um pouco de sustentação ao braço. Eles desceram no quinto andar. George levou a mãe até a sala que dividia com Dennis
Wilson e vários outros colegas. A sala de Bobby Kennedy ficava logo ao lado. Dennis estava sentado diante de sua mesa perto da porta. Era um homem pálido cujos cabelos louros começavam prematuramente a rarear. – A que horas ele volta? – perguntou-lhe George. Dennis sabia que ele estava se referindo ao secretário. – Vai demorar mais uma hora, no mínimo. – Venha ver a sala de Bobby Kennedy – disse George para Jacky. – Tem certeza de que não tem problema? – Ele não está. Não acharia ruim. George fez a mãe atravessar uma antessala, meneando a cabeça para duas secretárias, e entrou na sala do secretário de Justiça. Parecia mais a sala de estar de uma grande casa de campo, com paredes revestidas de nogueira, uma imensa lareira de pedra, tapete e cortinas estampados e luminárias sobre mesas de apoio. Era um cômodo imenso, mas mesmo assim Bobby conseguira fazê-lo parecer abarrotado. A decoração incluía um aquário e um tigre empalhado. A enorme escrivaninha estava coberta por uma profusão de papéis, cinzeiros e fotos de família. Quatro telefones repousavam sobre uma prateleira atrás da cadeira da escrivaninha. – Lembra aquela casa perto da Union Station em que morávamos quando você era pequeno? – perguntou Jacky. – Claro. – A casa inteira caberia aqui dentro. George olhou em volta. – É, acho que sim. – E essa escrivaninha é maior do que a cama em que você e eu dormimos juntos até você fazer 4 anos. – Nós dois e o cachorro. Sobre a escrivaninha havia uma boina verde, parte do uniforme das Forças Especiais do Exército americano que Bobby tanto admirava. Mas Jacky estava mais interessada nas fotografias. George pegou um porta-retratos com uma imagem de Bobby e Ethel sentados no gramado em frente a um casarão cercados pelos sete filhos. – Esta aqui foi tirada em frente a Hickory Hill, a casa que eles têm em McLean, na Virgínia. – Passou a foto para a mãe. – Gostei – disse ela, estudando a fotografia. – Ele dá valor à família. Uma voz confiante com sotaque de Boston perguntou: – Quem dá valor à família? George girou nos calcanhares e viu Bobby Kennedy entrando na sala. O secretário estava usando um terno cinza-claro de verão todo amarrotado. Tinha a gravata frouxa e o colarinho desabotoado. Não era tão bonito quanto o irmão mais velho, principalmente por causa dos dentes da frente grandes e saltados como os de um coelho.
George ficou constrangido. – Secretário, me desculpe – falou. – Pensei que o senhor fosse passar a tarde inteira fora. – Não tem problema – respondeu Bobby, mas George não teve certeza se ele estava sendo sincero. – Isto aqui pertence ao povo americano... quem quiser pode olhar. – Esta é minha mãe, Jacky Jakes – apresentou George. Bobby apertou a mão dela com vigor. – Sra. Jakes, parabéns pelo seu filho – falou, ligando o botão do charme como fazia toda vez que conversava com algum eleitor. O rosto de Jacky estava escuro de vergonha, mas ela respondeu sem hesitar: – Obrigada. O senhor tem vários... estava vendo aqui nesta foto. – Quatro meninos e três meninas. Todos maravilhosos, e falo com total imparcialidade. Todos riram. – Foi um prazer conhecê-la, Sra. Jakes. Venha nos visitar sempre que quiser – falou Bobby. Apesar de bem-educada, era claramente uma dispensa, e George e a mãe saíram da sala. Seguiram pelo corredor até o elevador. – Que constrangimento – comentou Jacky. – Mas ele foi educado. – Foi uma armação – retrucou George, zangado. – Bobby nunca chega cedo para nada. Dennis nos enganou de propósito. Quis me fazer parecer presunçoso. Jacky afagou seu braço. – Se essa for a pior coisa que acontecer hoje, estamos bem. – Não sei. – George se lembrou da acusação de Verena, de que o seu emprego era só um enfeite. – Você acha que o meu papel aqui pode ser só dar a impressão de que Bobby está ouvindo os negros, quando na verdade não está? Jacky refletiu um pouco. – Pode ser. – Talvez eu seja mais útil trabalhando para Martin Luther King em Atlanta. – Entendo como você se sente, mas acho que deveria ficar aqui. – Eu sabia que você diria isso. Ele a acompanhou até o lado de fora do prédio. – Como é o seu apartamento? – perguntou ela. – Minha próxima visita vai ser lá. – É ótimo. – Ele havia alugado o último andar de uma casa vitoriana alta e estreita no bairro de Capitol Hill. – Pode ir no domingo. – Para eu poder preparar o jantar na sua cozinha? – Que oferta generosa. – Vou conhecer sua namorada? – Sim, eu convido Norine. Eles se despediram com um beijo. Jacky pegaria um trem de subúrbio até sua casa no condado de Prince George, em Maryland. Antes de se afastar, ela disse:
– Lembre-se do seguinte: há mil rapazes inteligentes querendo trabalhar para Martin Luther King, mas só um negro sentado na sala ao lado da de Bobby Kennedy. Ela estava certa, pensou George. Geralmente estava. Ao voltar para sua sala, não disse nada a Dennis; apenas sentou-se à mesa e escreveu para Bobby o resumo de um relatório sobre integração escolar. Às cinco da tarde, o secretário de Justiça e seus assessores entraram em limusines para fazer o curto trajeto até a Casa Branca, onde ele tinha hora marcada com o presidente. Era a primeira vez que George participava de uma reunião na Casa Branca, e ele se perguntou se isso seria um sinal de que estava ficando mais digno de confiança – ou apenas de que a reunião era menos importante. Eles entraram na Ala Oeste e foram até a Sala do Gabinete, recinto comprido com quatro janelas altas em uma das paredes. Umas vinte cadeiras de couro azul-escuro rodeavam uma mesa em formato de caixão. Naquela sala eram tomadas decisões que abalavam o mundo, pensou George com solenidade. Quinze minutos depois, ainda não havia nem sinal do presidente Kennedy. – Pode ir se certificar de que Dave Powers sabe que estamos aqui? – pediu Dennis a George. Powers era o assistente pessoal do presidente. – Claro – respondeu George. Sete anos em Harvard para virar garoto de recados, pensou. Antes da reunião com Bobby, o presidente ficara de passar em uma festa para celebridades que o apoiavam. George se afastou na direção do edifício principal e foi seguindo o barulho. Sob os imensos lustres do Salão Leste, umas cem pessoas já estavam em sua segunda hora de drinques. George acenou para Percy Marquand e Babe Lee, pais de Verena, que conversavam com alguém do Comitê Democrata Nacional. O presidente não estava no salão. Olhando em volta, George viu a entrada de uma cozinha. Ficara sabendo que o presidente gostava de usar portas de serviço e corredores dos fundos para evitar ser abordado e atrasado o tempo inteiro. Passou por uma porta de serviço e logo do outro lado encontrou a comitiva presidencial. Bonito e bronzeado, o presidente de apenas 44 anos usava um terno azul-marinho com uma camisa branca e uma gravata fininha. Parecia cansado e irritado. – Não posso ser fotografado com um casal inter-racial! – falou, em tom frustrado, como se estivesse sendo obrigado a se repetir. – Eu perderia dez milhões de votos! George só tinha visto um casal inter-racial no salão: Percy Marquand e Babe Lee. Ficou indignado. Quer dizer que aquele presidente liberal tinha medo de ser fotografado com eles? Dave Powers era um simpático homem de meia-idade, narigudo e calvo, que não poderia ser mais diferente de seu superior. – O que devo fazer? – indagou ao presidente. – Tire-os de lá!
Dave era amigo pessoal do presidente e não teve medo de lhe mostrar sua irritação: – E o que digo a eles, pelo amor de Deus? De repente, a raiva de George passou e ele começou a raciocinar. Seria aquela uma oportunidade para ele? Sem nenhum plano definido, falou: – Presidente, meu nome é George Jakes, eu trabalho para o secretário de Justiça. Posso cuidar desse problema para o senhor? Observou os rostos dos presentes e entendeu o que eles estavam pensando: se Percy Marquand seria ofendido na Casa Branca, antes fosse por um negro. – Caramba, pode sim – respondeu o presidente. – Eu ficaria muito grato, George. – Pois não – retrucou o rapaz, e voltou ao salão. Mas o que iria fazer? Foi refletindo enquanto atravessava o recinto de chão encerado em direção a Percy e Babe. Precisava tirá-los dali por uns quinze ou vinte minutos, só isso. O que poderia dizer? Qualquer coisa menos a verdade, supôs. Quando chegou ao grupo que conversava e tocou com delicadeza o braço de Percy Marquand, ainda não sabia o que iria dizer. Percy se virou, reconheceu-o, sorriu e apertou sua mão. – Pessoal! – falou para os convivas à sua volta. – Venham conhecer um Viajante da Liberdade! Babe Lee segurou o braço de George com as duas mãos, como se temesse que alguém fosse roubá-lo. – Você é um herói, George – falou. Foi nessa hora que ele atinou com o que deveria dizer. – Sr. Marquand, Srta. Lee, eu trabalho para Bobby Kennedy agora e ele gostaria de conversar alguns minutos com vocês sobre direitos civis. Posso levá-los até ele? – É claro – respondeu Percy, e poucos segundos depois os três já estavam fora do salão. George se arrependeu na mesma hora do que acabara de dizer. Com o coração aos pulos, conduziu-os até a Ala Oeste. Como Bobby iria reagir? Poderia dizer Que droga, não vai dar, estou sem tempo. Se houvesse um incidente constrangedor, a culpa seria sua. Por que não tinha ficado de bico calado? – Almocei com Verena hoje – falou, para puxar papo. – Ela está adorando o emprego em Atlanta – disse Babe Lee. – A Conferência da Liderança Cristã do Sul é uma organização pequena, mas está fazendo coisas incríveis. – O Dr. King é um grande homem – comentou Percy. – De todos os líderes de direitos civis que já conheci, é o mais impressionante. Eles chegaram à Sala do Gabinete e entraram. A meia dúzia de homens lá dentro estava sentada em uma das extremidades da mesa comprida, conversando; alguns fumavam. Todos olharam espantados para os recém-chegados. George localizou Bobby e observou sua expressão: ele parecia intrigado e irritado.
– Bobby, você conhece Percy Marquand e Babe Lee – falou. – Eles ficariam felizes em conversar alguns minutos conosco sobre direitos civis. Por instantes, o semblante de Bobby escureceu de raiva. George se deu conta de que era a segunda vez no mesmo dia que surpreendia o chefe com uma visita indesejada. Mas então o secretário sorriu. – Que privilégio! – falou. – Sentem-se, amigos, e obrigado por terem apoiado a campanha eleitoral do meu irmão. Por alguns instantes, George sentiu alívio. Não haveria constrangimento. Bobby tinha acionado seu botão de charme automático. Pediu as opiniões de Percy e de Babe Lee e falou com franqueza sobre as dificuldades que os Kennedy estavam tendo com os democratas sulistas no Congresso. O casal ficou lisonjeado. Alguns minutos depois, o presidente entrou na sala. Apertou a mão de Percy e Babe, em seguida pediu a Dave Powers para acompanhá-los de volta à festa. Assim que a porta se fechou atrás deles, Bobby se virou para George. – Nunca mais faça isso comigo! Sua expressão revelava a força de sua fúria contida. George viu Dennis Wilson reprimir um sorriso. – Quem você pensa que é, porra? – explodiu Bobby. George pensou que ele fosse lhe bater. Equilibrou-se na parte da frente dos pés, pronto para se esquivar de um soco. Desesperado, falou: – O presidente queria que eles saíssem do salão! Não queria ser fotografado com Percy e Babe. Bobby olhou para o irmão mais velho, que assentiu. – Tive trinta segundos para pensar em um pretexto que não fosse ofendê-los. Inventei que o senhor queria conhecê-los. E deu certo, não foi? Eles não ficaram ofendidos... Na verdade, acham que receberam tratamento VIP! – É verdade, Bob – disse o presidente. – George nos tirou de uma sinuca. – Queria garantir que não perdêssemos o apoio deles na campanha da reeleição – falou George. Bobby ficou sem ação durante alguns segundos, enquanto digeria a informação. – Quer dizer que você disse aos dois que eu queria falar com eles só para deixá-los de fora das fotos com o presidente? – Isso mesmo – confirmou George. – Foi um raciocínio bem sagaz – comentou o presidente. A expressão de Bobby se modificou. Depois de alguns instantes, ele começou a rir. O irmão o imitou, e então os outros homens na sala puseram-se a rir também. Bobby passou o braço em volta dos ombros de George. O rapaz ainda estava abalado. Tivera medo de ser demitido. – Georgie, meu garoto, você é um de nós! – exclamou Bobby.
George percebeu que acabara de ser aceito no círculo íntimo dos poderosos. Aliviado, relaxou os ombros. Não sentia tanto orgulho quanto poderia ter sentido. Havia bolado uma farsa mambembe e ajudado o presidente a ser condescendente com o preconceito racial. Sua vontade era lavar as mãos. Mas então viu a raiva na expressão de Dennis Wilson e sentiu-se melhor.
CAPÍTULO DEZ
Naquele mês de agosto, Rebecca foi convocada pela segunda vez à sede da polícia secreta. Perguntou-se, temerosa, o que a Stasi poderia querer dessa vez. Eles já tinham arruinado sua vida: ela fora enganada para fazer um casamento que era uma farsa e agora não conseguia arrumar emprego, decerto porque eles estavam ordenando às escolas que não a contratassem. O que mais poderiam fazer com ela? Não poderiam prendê-la só por ter sido sua vítima. Mas a verdade é que podiam fazer o que quisessem. Ela pegou um ônibus para cruzar Berlim; fazia calor. A nova sede da Stasi era tão feia quanto a organização ali sediada: uma caixa retilínea de concreto para pessoas cuja mente era feita apenas de ângulos retos. Novamente, ela subiu no elevador acompanhada e foi conduzida pelos corredores pintados em um tom feio de amarelo, mas dessa vez foi levada para uma sala diferente. Ali, à sua espera, encontrou o marido, Hans. Ao vê-lo, seu temor foi substituído por uma raiva ainda mais potente. Embora ele tivesse o poder de lhe fazer mal, ela estava furiosa demais para se curvar diante dele. Hans estava usando um terno cinza-azulado que ela não conhecia. Tinha uma sala grande, com duas janelas e móveis novos e modernos: era mais importante na organização do que ela supusera. Como precisava de tempo para decidir como se comportar, ela falou: – Imaginava que o sargento Scholz fosse me receber. Hans olhou para o outro lado. – Ele não tinha talento para trabalhar com segurança. Rebecca pôde ver que Hans estava escondendo alguma coisa. Provavelmente Scholz fora demitido, ou quem sabe rebaixado a agente de trânsito. – Imagino que ele tenha cometido um erro ao me interrogar aqui, e não na delegacia do meu bairro. – Ele não deveria ter interrogado você e ponto final. Sente-se. Hans apontou para uma cadeira em frente à sua grande e feia escrivaninha. A cadeira feita de tubos metálicos e plástico duro cor de laranja fora projetada para fazer as vítimas se sentirem ainda mais desconfortáveis, pensou Rebecca. Sua fúria reprimida lhe deu forças para desafiar Hans. Em vez de se sentar, ela foi até a janela e olhou para o estacionamento. – Você perdeu seu tempo, não foi? – indagou. – Teve todo aquele trabalho para vigiar minha família, mas não encontrou sequer um espião ou sabotador. – Ela se virou para ele. – Seus chefes devem estar bem bravos com você. – Pelo contrário – retrucou ele. – Essa operação é considerada uma das mais bemsucedidas já conduzidas pela Stasi.
Rebecca não conseguia imaginar como isso poderia ser possível. – Vocês não podem ter descoberto nada muito interessante. – Minha equipe produziu um gráfico que mostra todos os social-democratas da Alemanha Oriental e os vínculos entre eles – declarou Hans, orgulhoso. – E a informação-chave foi conseguida na sua casa. Seus pais conhecem todos os reacionários mais importantes, e muitos os visitaram. Rebecca franziu a testa. Era verdade que a maioria das pessoas que ia à sua casa era social-democrata; nada mais natural. – Mas são só amigos – disse ela. Hans deixou escapar uma risada curta e zombeteira. – Só amigos! – arremedou. – Por favor, eu sei que você não é lá muito inteligente... você mesma disse isso várias vezes quando vivíamos juntos. Mas tampouco é totalmente desmiolada. Ocorreu a Rebecca que Hans e todos os agentes da polícia secreta eram obrigados a acreditar, ou pelo menos a fingir que acreditavam, em fantásticas conspirações contra o governo. Caso contrário, seu trabalho era uma perda de tempo. Assim, Hans havia construído uma rede imaginária de social-democratas baseada na casa da família Franck, todos conspirando para derrubar o governo comunista. Quem dera fosse verdade. – É claro que o plano nunca foi me casar com você – continuou Hans. – Tínhamos planejado só um flerte, o suficiente para eu poder entrar na casa. – O meu pedido de casamento deve ter sido um problema para vocês. – Nosso projeto estava indo bem demais. As informações que eu estava obtendo eram cruciais. Cada pessoa que eu via na sua casa nos conduzia a mais social-democratas. Se eu recusasse o seu pedido, essa fonte iria secar. – Que coragem a sua – disse Rebecca. – Você deve estar orgulhoso. Ele a encarou. Por alguns instantes, ela não conseguiu interpretar sua expressão. Algo estava acontecendo na mente dele, e ela não sabia o quê. Ocorreu-lhe que Hans talvez quisesse tocá-la ou lhe dar um beijo. O pensamento lhe causou um arrepio. Hans então balançou a cabeça como quem tenta clarear as ideias. – Nós não estamos aqui para falar sobre o casamento – retrucou ele, irritado. – Então por que estamos aqui? – Você causou um incidente na central de empregos. – Incidente? Perguntei ao homem na minha frente na fila quanto tempo fazia que ele estava desempregado. A mulher do outro lado do balcão se levantou e começou a gritar “Não existe desemprego nos países comunistas!” com uma voz esganiçada. Eu olhei para a fila à minha frente e atrás de mim e ri. Isso é um incidente? – Você teve um acesso de riso e se recusou a parar, depois foi expulsa do prédio. – É verdade que eu não consegui parar de rir. O que ela disse foi tão absurdo...
– Não foi absurdo! – Hans extraiu um cigarro de um maço de f6. Como todos os homens truculentos, ficava nervoso quando alguém o enfrentava. – Ela estava certa. Não há desempregados na Alemanha Oriental. O comunismo resolveu o problema do desemprego. – Por favor, não comece – pediu Rebecca. – Você vai me fazer rir de novo e serei expulsa deste prédio também. – O seu sarcasmo não vai adiantar. Ela olhou para uma foto emoldurada na parede na qual Hans apertava a mão de Walter Ulbricht, o líder da Alemanha Oriental. Ulbricht era careca e usava bigode e um cavanhaque pontudo: a semelhança com Lênin era levemente engraçada. – O que Ulbricht estava dizendo? – quis saber Rebecca. – Estava me dando os parabéns pela promoção a capitão. – Outra recompensa por ter enganado cruelmente a sua mulher. Mas me diga, se não estou desempregada, qual é a minha situação? – Você está sob investigação por ser uma parasita social. – Que absurdo! Eu trabalho sem parar desde que me formei. Oito anos sem tirar nenhum dia por motivo de doença. Fui promovida e recebi responsabilidades suplementares, entre elas a supervisão de novos professores. Aí, um belo dia, descubro que meu marido é um espião da Stasi e logo depois sou mandada embora. Desde então, fiz seis entrevistas de emprego, e em todas elas a escola se mostrou desesperada para que eu começasse o quanto antes. Apesar disso, em todas as vezes a escola me escreveu logo depois dizendo que não podia me oferecer a vaga, sem conseguir me dar nenhum motivo para isso. Você sabe por quê? – Ninguém quer você. – Todo mundo me quer. Eu sou uma boa professora. – Você é ideologicamente suspeita. Seria má influência para jovens suscetíveis. – Eu tenho uma recomendação excelente do meu último patrão. – De Bernd Held, não é? Ele também está sendo investigado por ser ideologicamente suspeito. Rebecca sentiu um arrepio de medo no fundo do peito. Tentou manter a expressão neutra. Que terrível seria se o bondoso e capaz Bernd tivesse problemas por causa dela. Preciso avisá-lo, pensou. Mas não conseguiu esconder de Hans o que estava sentindo. – Ficou abalada, não foi? Sempre tive minhas desconfianças. Você gostava dele. – Ele queria ter um caso comigo, mas não quis trair você. Imagine só. – Eu teria descoberto. – Mas em vez disso fui eu que descobri você. – Eu estava cumprindo o meu dever. – Quer dizer que está me impedindo de conseguir um emprego e me acusando de parasitismo social. O que espera que eu faça? Que vá para o Ocidente? – Emigrar sem permissão é crime.
– Mas mesmo assim muitas pessoas emigram! Ouvi dizer que já são quase mil por dia. Professores, médicos, engenheiros, até policiais. Ah! – Ela teve um lampejo. – Foi isso que aconteceu com o sargento Scholz? Hans se esquivou da pergunta. – Não é da sua conta. – Dá para ver na sua cara. Quer dizer que Scholz foi para o Ocidente. Por que você acha que toda essa gente respeitável está virando criminosa? Será porque querem viver em um país que tem eleições livres, essas coisas? Zangado, Hans levantou a voz: – Eleições livres nos deram Hitler! É isso que essa gente quer? – Talvez eles não gostem de morar em um país no qual a polícia secreta pode fazer o que quiser. Você pode imaginar como isso deixa as pessoas nervosas. – Só as que têm segredos condenáveis! – E qual é o meu segredo, Hans? Vamos lá, você deve saber. – Você é uma parasita social. – Quer dizer que você primeiro me impede de arrumar um emprego e depois ameaça me prender por não ter um emprego. Suponho que eu seria mandada para um campo de trabalho, não é? Aí eu teria um emprego, só que não seria remunerada. Eu amo o comunismo, ele é tão lógico! Me pergunto por que as pessoas ficam tão desesperadas para escapar dele. – Sua mãe me disse muitas vezes que jamais emigraria para o Ocidente. Para ela seria como fugir. Rebecca se perguntou aonde ele estava querendo chegar. – E daí? – Se você cometer o crime de emigração ilegal, nunca mais poderá voltar. Rebecca entendeu o que estava por vir, e o desespero a sufocou. – Você nunca mais veria sua família – disse Hans, triunfante.
Arrasada, Rebecca saiu do prédio da Stasi e parou no ponto de ônibus. Por mais que pensasse na questão, via-se forçada a perder a família ou a liberdade. Cabisbaixa, pegou o ônibus até a escola em que havia trabalhado. Estava despreparada para a nostalgia que a atingiu como um soco quando entrou lá: o barulho das conversas dos alunos, o cheiro de pó de giz e produtos de limpeza, os quadros de avisos, as chuteiras de futebol e as placas dizendo “Ande, não corra”. Percebeu quanto era feliz como professora. Era um trabalho de importância vital e ela o fazia muito bem. Não conseguia suportar a ideia de jamais voltar a lecionar. Encontrou Bernd na sala do diretor, vestido com um terno de camurça preto; o tecido estava gasto, mas a cor lhe favorecia. Seu rosto se acendeu de felicidade quando ele a viu
abrir a porta. – Virou diretor? – perguntou ela, embora já pudesse adivinhar a resposta. – Nunca vai acontecer – respondeu ele. – Mas mesmo assim assumi o cargo e estou adorando. Enquanto isso, Anselm, nosso chefe, agora é diretor de uma grande escola em Hamburgo e está ganhando o dobro do salário. E você? Sente-se. Rebecca se sentou e lhe contou sobre as entrevistas de emprego. – É a vingança de Hans. Eu nunca deveria ter atirado aquela maldita maquete pela janela. – Talvez não seja isso – ponderou Bernd. – Já vi essa situação antes. Paradoxalmente, a pessoa odeia aquela a quem fez mal. Acho que é porque a vítima é um eterno lembrete de seu comportamento vergonhoso. Bernd era muito inteligente. Rebecca sentia saudades dele. – Acho que infelizmente Hans talvez odeie você também – falou. – Ele me disse que você estava sendo investigado como ideologicamente suspeito por ter me escrito uma carta de recomendação. – Ai, droga. Ele esfregou a cicatriz na testa, sempre um sinal de que estava preocupado. Envolver-se com a Stasi nunca trazia um final feliz. – Desculpe. – Não precisa se desculpar. Estou feliz por ter escrito a carta. Escreveria de novo. Alguém precisa dizer a verdade nesta porcaria de país. – De algum jeito Hans também descobriu que você... sentia atração por mim. – E ele está com ciúmes? – Difícil de imaginar, não é? – Nem um pouco. Nem mesmo um espião poderia deixar de se apaixonar por você. – Não diga bobagem. – Foi por isso que você veio aqui? Para me alertar? – E para dizer... – Mesmo com Bernd, ela precisava ser discreta. – Para dizer que nós provavelmente não vamos nos ver por algum tempo. – Ah... – Ele meneou a cabeça; já tinha entendido. As pessoas raramente diziam que estavam indo para o Ocidente. Era possível ser preso pelo simples fato de planejar fazer isso. E quem descobrisse que você pretendia emigrar estaria cometendo um crime caso não informasse à polícia. Portanto, ninguém, exceto os parentes mais próximos, queria ser culpado de saber uma coisa dessas. Rebecca se levantou. – Obrigada pela sua amizade, então. Bernd deu a volta na mesa e a segurou pelas duas mãos. – Não, quem agradece sou eu. E boa sorte. – Para você também. Ela percebeu que, em seu inconsciente, já tinha tomado a decisão de emigrar para o
Ocidente; e era nisso que estava pensando, surpresa e nervosa, quando de repente Bernd inclinou a cabeça e a beijou. Ela não esperava por isso. Foi um beijo delicado. Ele deixou os lábios encostarem nos dela, mas sem abrir a boca. Rebecca fechou os olhos. Depois de um ano de casamento falso, era bom saber que alguém realmente a considerava desejável, ou mesmo digna de ser amada. Teve o impulso de envolvê-lo nos braços, mas se reprimiu. Seria loucura começar um relacionamento fadado ao fracasso. Depois de alguns segundos, afastou-se. Sentia-se à beira das lágrimas, e não quis que ele a visse chorando. – Adeus – conseguiu dizer. Então virou as costas e saiu da sala depressa.
Decidiu que iria embora em dois dias, domingo de manhã bem cedo. Todos se levantaram para se despedir. Ela não conseguiu comer nada no café da manhã. Estava nervosa demais. – Provavelmente devo ir para Hamburgo – falou, fingindo animação. – Anselm Weber agora é diretor de uma escola na cidade, e tenho certeza de que vai me contratar. Vestida com um roupão de seda roxa, sua avó Maud disse: – Você conseguiria emprego em qualquer lugar da Alemanha Ocidental. – Mas vai ser bom conhecer pelo menos uma pessoa na cidade – falou Rebecca, desolada. – Parece que em Hamburgo a cena musical é ótima – comentou Walli. – Assim que terminar o colégio irei encontrar você lá. – Se você terminar a escola, vai ter que trabalhar – disse Werner para o filho em tom de sarcasmo. – Vai ser uma experiência nova para você. – Nada de brigas hoje – pediu Rebecca. Seu pai lhe entregou um envelope com dinheiro. – Assim que chegar ao outro lado, pegue um táxi – instruiu. – Vá direto para Marienfelde. – Havia um centro para refugiados nessa localidade ao sul de Berlim, perto do aeroporto de Tempelhof. – Dê logo entrada nos papéis da emigração. Com certeza vai ter de esperar horas na fila, talvez dias. Assim que estiver com tudo em ordem, vá até a fábrica. Aí eu abro uma conta bancária para você na Alemanha Ocidental, essas coisas. Carla estava aos prantos. – Nós vamos nos ver – falou Rebecca. – Você pode pegar um avião até Berlim Ocidental sempre que quiser, e podemos simplesmente atravessar a fronteira a pé para encontrá-la. Faremos piqueniques à beira do Wannsee. Rebecca estava tentando não chorar. Guardou o dinheiro em uma pequena bolsa a tiracolo que era sua única bagagem. Qualquer outro volume poderia levá-la a ser detida pelos Vopos na fronteira. Queria ficar mais um pouco, mas teve medo de perder a coragem. Beijou e abraçou cada um de seus parentes: a avó, o pai adotivo, o irmão e a irmã, e por último Carla,
a mulher que havia salvado sua vida e a criara como filha. Não era sua mãe de verdade, mas justamente por isso era ainda mais preciosa. Então, com os olhos marejados, saiu de casa. A manhã de verão estava ensolarada e não havia uma só nuvem no céu. Ela tentou se manter otimista: iria começar uma vida nova, longe da soturna repressão de um regime comunista. E em breve, de uma forma ou de outra, tornaria a ver sua família. Foi andando depressa pelas ruas sinuosas do antigo centro da cidade. Passou pelo vasto pátio do hospital universitário Charité e pegou a Invaliden Strasse. À sua esquerda ficava a ponte de Sandkrug, pela qual os carros atravessavam o canal de Berlim-Spandau até o lado ocidental. Só que nesse dia a ponte estava interditada. No início, ela não entendeu muito bem o que estava vendo. Havia uma fila de carros parada antes da ponte. Atrás deles, um aglomerado de pessoas em pé observava alguma coisa. Talvez tivesse havido algum acidente na ponte. À sua direita, porém, na Platz vor dem Neuen Tor, uns vinte ou trinta soldados alemães-orientais estavam parados sem fazer nada. Atrás deles, dois tanques soviéticos. Intrigante e assustador. Ela abriu caminho pela multidão. Agora podia ver qual era o problema. Uma cerca grosseira de arame farpado tinha sido erguida quase no final da ponte. Um pequeno buraco nessa cerca era vigiado por policiais que pareciam não deixar ninguém passar. Rebecca sentiu-se tentada a perguntar o que estava acontecendo, mas não quis chamar atenção para si. Não estava muito longe da estação da Friedrichstrasse, e de lá poderia pegar o metrô direto até Marienfelde. Pegou a direção sul, agora com o passo mais apertado, e ziguezagueou por entre uma série de prédios universitários até o metrô. Só que lá também havia alguma coisa errada. Várias dezenas de pessoas estavam amontoadas junto à entrada da estação. Aos empurrões, Rebecca conseguiu chegar até a frente e leu um aviso pregado na parede que informava apenas o óbvio: a estação estava fechada. No alto da escada, uma fila de policiais armados formava uma barreira. Ninguém podia descer até as plataformas. Começou a ficar com medo. Talvez fosse coincidência os dois primeiros pontos que escolhera para atravessar estarem bloqueados. Mas talvez não. Havia 81 locais em que as pessoas podiam passar de Berlim Oriental para Berlim Ocidental. O mais próximo dali era o Portão de Brandemburgo, onde a larga Unter den Linden atravessava o arco monumental e adentrava o parque Tiergarten. Ela pegou a Friedrichstrasse na direção sul. Assim que dobrou a oeste na Unter den Linden, soube que estava em apuros. Aquele ponto também estava tomado por tanques e soldados. Havia centenas de pessoas reunidas em frente ao famoso portão. Chegando à frente da multidão, Rebecca viu outra cerca de arame farpado
sustentada por cavaletes de madeira e protegida por policiais da Alemanha Oriental. Rapazes parecidos com Walli – jaqueta de couro, calças justas e penteado ao estilo Elvis – gritavam insultos de uma distância segura. Do lado ocidental, jovens parecidos também gritavam, irados, e ocasionalmente atiravam pedras na polícia. Rebecca olhou com mais atenção e viu que os vários agentes de segurança pública – Vopos, policiais de fronteira e milicianos operários de fábrica – abriam buracos na rua para fincar altas colunas de concreto e prendiam arame farpado de coluna em coluna para construir uma estrutura mais permanente. Permanente, pensou, e seu ânimo despencou. – Isso está acontecendo por toda parte? – perguntou a um homem ao seu lado. – Essa cerca? – Por toda parte – respondeu ele. – Desgraçados! O regime da Alemanha Oriental tinha feito aquilo que todos diziam ser impossível: construíra um muro que cortava Berlim ao meio. E Rebecca estava do lado errado.
Dave Williams e o Plum Nellie chegaram a Hamburgo cheios de expectativa. Estavam vivendo uma ótima fase. Eram cada vez mais conhecidos em Londres, e agora iriam maravilhar a Alemanha. O gerente do The Dive se chamava Herr Fluck, nome que os integrantes do grupo acharam hilário. Um pouco menos engraçado foi o fato de ele não gostar muito do Plum Nellie. Pior ainda: depois de algumas noites, Dave começou a achar que ele estava certo. O grupo não estava dando aos clientes o que eles queriam. – Façam dançar! – dizia Herr Fluck, em inglês. – Façam dançar!

Rebecca Hoffmann foi convocada pela polícia secreta em uma segunda-feira chuvosa de 1961. A manhã começou como outra qualquer. O marido a levou ao trabalho de carro, um Trabant 500 bege. As antigas e graciosas ruas do centro de Berlim ainda exibiam buracos causados pelos bombardeios da guerra, exceto nos pontos em que novos edifícios de concreto se erguiam como dentes falsos que não combinavam com os outros. Ao volante, Hans estava com a cabeça no trabalho. – Os tribunais favorecem juízes, advogados, policiais, o governo... todo mundo menos as vítimas de crimes – falou. – Isso seria de se esperar nos países capitalistas ocidentais, mas, em um regime comunista, os tribunais deveriam privilegiar os cidadãos. Meus colegas não parecem entender isso. Hans trabalhava no Ministério da Justiça. – Já estamos casados há quase um ano e nos conhecemos há dois, mas ainda não fui apresentada a nenhum dos seus colegas – comentou Rebecca. – Você os acharia entediantes – retrucou Hans na mesma hora. – São todos advogados. – Não tem nenhuma mulher? – Não.
.
.
.

.
.
Pelo menos não no meu departamento. Ele trabalhava na administração: designava juízes para os casos, marcava audiências, gerenciava o funcionamento dos prédios dos tribunais. – Eu gostaria de conhecê-los mesmo assim. Homem de personalidade forte, Hans havia aprendido a se controlar. Ao observá-lo, Rebecca identificou em seus olhos uma conhecida centelha de raiva diante da sua insistência, que ele com muito esforço conseguiu conter. – Vou organizar alguma coisa – falou. – Quem sabe vamos a um bar uma noite dessas? Hans era o primeiro homem que Rebecca conhecia que estava à altura de seu pai. Apesar de seguro e autoritário, sempre escutava o que ela dizia. Tinha um bom emprego – poucas pessoas eram donas de um carro na Alemanha Oriental –, e os funcionários do governo em geral eram comunistas linha-dura, mas ele surpreendentemente compartilhava seu ceticismo político. Assim como seu pai, era alto, bonito e sabia se vestir. Era o homem que ela estava esperando. Somente uma vez durante o namoro, por um breve instante, Rebecca duvidara dele. Os dois tinham sofrido um acidente de carro sem gravidade. A culpa fora toda do outro motorista, que saíra de uma rua lateral sem fazer a parada obrigatória. Coisas assim aconteciam diariamente, mas Hans tinha ficado louco de raiva. Embora o estrago nos dois carros houvesse sido mínimo, tinha chamado a polícia, mostrado seu crachá do Ministério da Justiça e mandado prender o outro sujeito por dirigir de maneira perigosa. Depois do acidente, ele lhe pediu desculpas por ter perdido a calma. Assustada com aquele comportamento vingativo, Rebecca por pouco não terminou o relacionamento, mas Hans lhe explicou que não estava no seu temperamento normal por causa das pressões no trabalho, e ela acreditou. Sua confiança tinha se justificado: ele nunca mais fizera nada daquele tipo. Ao completarem um ano de namoro, quando já fazia seis meses que dormiam juntos quase todos os fins de semana, Rebecca começou a estranhar que ele não a pedisse em casamento. Nenhum dos dois era mais criança: na época, ela estava com 28 anos, ele, com 33. Assim, ela mesma fez o pedido e, apesar de espantado, ele disse sim. Hans encostou o carro em frente à escola na qual ela trabalhava. O prédio era moderno e bem equipado: os comunistas levavam a educação a sério. Diante do portão, cinco ou seis alunos mais velhos fumavam de pé, sob uma árvore. Eles encararam Rebecca, que os ignorou e se despediu do marido com um beijo na boca antes de saltar do carro. Os meninos a cumprimentaram com educação, mas ela pôde sentir seus olhos ávidos de adolescentes passearem por seu corpo enquanto chapinhava pelas poças no pátio da escola. Rebecca vinha de uma família de políticos. O avô fora membro social-democrata do Parlamento alemão, o Reichstag, até Hitler subir ao poder. A mãe, também social-democrata, tinha integrado o conselho municipal durante o breve interlúdio democrático de Berlim Oriental após a guerra. Mas a Alemanha Oriental agora era uma tirania comunista, e Rebecca não via utilidade em se meter na política. Por isso canalizava seu idealismo para o magistério, na esperança de que a geração seguinte fosse menos dogmática, mais tolerante e mais inteligente. Na sala dos professores, verificou o horário de emergência afixado ao quadro de avisos. A maioria de suas turmas estaria dobrada nesse dia, com dois grupos de alunos imprensados dentro de uma mesma sala. Ela lecionava russo, mas hoje também precisaria dar uma aula de inglês. Não dominava o idioma, embora tivesse aprendido alguns rudimentos com a avó Maud, que era britânica de nascimento e, aos 70 anos, ainda esbanjava energia. Aquela era a segunda vez que lhe pediam que desse aula de inglês, e ela começou a pensar em um texto que pudesse usar. Da primeira vez, tinha usado um folheto distribuído aos soldados americanos explicando-lhes como se entender com os alemães; além de acharem o texto hilário, os alunos aprenderam muito. Hoje, talvez escrevesse no quadro-negro a letra de uma música que eles conhecessem e os fizesse traduzi-la para o alemão. Poderia ser “The Twist”, por exemplo, que não parava de tocar na rádio das Forças Norte-Americanas. Seria uma aula não convencional, mas era o melhor que ela podia fazer. A escola enfrentava uma desesperadora escassez de professores, pois metade do quadro de funcionários havia emigrado para a Alemanha Ocidental, onde se ganhavam 300 marcos a mais por mês e as pessoas eram livres. A situação era a mesma na maioria das escolas da Alemanha Oriental. E os professores não eram os únicos: médicos podiam receber o dobro na
parte ocidental. Carla, mãe de Rebecca, era chefe de enfermagem em um grande hospital de Berlim Oriental e estava arrancando os cabelos com a falta de enfermeiros e médicos. O mesmo acontecia na indústria e até nas Forças Armadas. Era uma crise nacional. Enquanto ela escrevia a letra de “The Twist” em um caderno, tentando se lembrar do verso que dizia algo sobre “minha irmãzinha”, o subdiretor da escola entrou na sala. Bernd Held era com certeza o melhor amigo de Rebecca fora da família. Magro e de cabelos escuros, tinha cerca de 40 anos e uma cicatriz pálida na testa, onde fora atingido por um estilhaço de bomba ao defender as Colinas de Seelow, no auge da guerra. Dava aulas de física, mas compartilhava o interesse de Rebecca por literatura russa, e umas duas vezes por semana os dois almoçavam juntos seus sanduíches. – Prestem atenção, todos – disse ele. – Infelizmente, tenho más notícias. Anselm nos deixou. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Anselm Weber era o diretor da escola. Era um comunista leal; todos os diretores tinham de ser. Mas os seus princípios pareciam ter sido derrotados pelo atrativo da próspera e livre Alemanha Ocidental. – Vou assumir o cargo até nomearem um novo diretor. Tanto Rebecca quanto os outros docentes da escola sabiam que, se o critério fosse competência, o próprio Bernd deveria ficar com o cargo, só que ele estava excluído porque se recusava a entrar para o Partido Socialista Unitário, o SED – cuja única diferença em relação ao Partido Comunista era o nome. Pelo mesmo motivo, Rebecca tampouco poderia ser diretora. Anselm insistira com ela para que entrasse para o partido, mas isso estava fora de cogitação. Para ela, seria como ingressar por vontade própria em um manicômio e fingir que todos os outros pacientes eram sãos. Enquanto Bernd discorria sobre as providências emergenciais, ela se perguntava quando a escola teria um novo diretor. Dali a um ano? Quanto tempo iria durar aquela crise? Ninguém saberia responder. Antes da primeira aula, checou seu escaninho, mas encontrou-o vazio. A correspondência ainda não tinha chegado. Talvez o carteiro também tivesse ido para a Alemanha Ocidental. A carta que viraria sua vida do avesso ainda estava a caminho. Ela deu sua primeira aula: uma discussão do poema russo “O cavaleiro de bronze” com um grupo grande de jovens de 17 e 18 anos. Usava esse texto todos os anos, desde que começara a lecionar. Como sempre, guiou os alunos na direção da análise soviética ortodoxa, explicando que, para Pushkin, o conflito entre interesse pessoal e dever público era solucionado a favor do público. Na hora do almoço, levou seu sanduíche para a sala do diretor e sentou-se em frente a Bernd diante da grande escrivaninha. Olhou para a prateleira repleta de bustos de cerâmica vagabundos: Marx, Lênin e Walter Ulbricht, o líder comunista alemão-oriental. O colega acompanhou seu olhar e sorriu.
– Que dissimulado esse Anselm – comentou. – Passou anos fingindo acreditar piamente e então... puff, desaparece. – Você nunca pensa em ir embora? – perguntou-lhe Rebecca. – É divorciado, sem filhos... não tem vínculo algum. Ele olhou em volta, como se verificasse se havia alguém escutando, então deu de ombros. – Já pensei nisso... Quem nunca pensou? Mas e você? Seu pai já trabalha mesmo em Berlim Ocidental, não é? – É. Ele tem uma fábrica de televisores. Mas minha mãe está decidida a ficar na parte oriental. Segundo ela, precisamos resolver nossos problemas, não fugir deles. – Eu conheci sua mãe. Uma verdadeira leoa. – Isso ela é, mesmo. E a casa em que moramos está na família dela há gerações. – E o seu marido? – Ele é dedicado ao emprego. – Então não preciso ter medo de perder você? Que alívio. – Bernd... – começou Rebecca, mas hesitou. – Pode falar. – Posso lhe fazer uma pergunta pessoal? – Claro. – Você largou sua esposa porque ela estava tendo um caso? Ele tensionou o corpo, mas mesmo assim respondeu. – Foi. – E como você descobriu? Ele estremeceu como quem sente uma dor súbita. – Essa pergunta o incomoda? – indagou ela, aflita. – É pessoal demais? – Para você eu não me importo de contar. Eu pressionei e ela admitiu. – Mas o que fez você desconfiar? – Várias pequenas coisas... Rebecca o interrompeu: – O telefone toca, você atende e, depois de um silêncio de alguns segundos, a pessoa do outro lado desliga. Ele assentiu. Ela foi em frente: – Seu cônjuge rasga um bilhete em pedacinhos, joga na privada e dá a descarga. Durante o fim de semana, é chamado para uma reunião de emergência. À noite, passa duas horas escrevendo algo que não quer lhe mostrar. – Ai, não – disse Bernd em um tom triste. – É sobre Hans que você está falando. – Ele está tendo um caso, não está? – Ela pousou o sanduíche na mesa; tinha perdido o apetite. – Diga-me sinceramente o que você acha. – Sinto muito. Bernd a beijara uma vez, quatro meses antes, no último dia do semestre de outono. Na hora
de se despedir e desejar Feliz Natal, tinha segurado de leve o seu braço, inclinado a cabeça e lhe dado um beijo na boca. Ela lhe pedira que nunca mais fizesse aquilo e dissera que gostaria de continuar sua amiga. Na volta às aulas, em janeiro, ambos fingiram que nada tinha acontecido. Algumas semanas depois, ele chegara a lhe contar que tinha marcado um encontro com uma viúva da idade dele. Rebecca não queria incentivar esperanças vãs, mas Bernd era a única pessoa com quem podia conversar fora da sua família, e ela não queria preocupá-los; não ainda. – Eu tinha tanta certeza de que Hans me amava... – falou, e seus olhos se encheram de lágrimas. – E eu o amo. – Talvez ele ame você. É que alguns homens não conseguem resistir à tentação. Ela não sabia se Hans considerava sua vida sexual satisfatória. Ele nunca reclamava, mas os dois só transavam cerca de uma vez por semana, frequência que ela considerava baixa para recém-casados. – Eu só quero ter minha própria família, igual à da minha mãe. Uma família em que todos se sintam amados, apoiados e protegidos – falou. – Pensei que pudesse ter isso com Hans. – Talvez ainda possa – disse Bernd. – Um caso não significa necessariamente o fim do casamento. – No primeiro ano? – Concordo que é bem ruim. – O que devo fazer? – Perguntar. Ele pode admitir ou negar, mas pelo menos vai saber que você sabe. – E depois? – O que você quer? Estaria disposta a se divorciar? Ela fez que não com a cabeça. – Eu nunca iria embora. O matrimônio é uma promessa. Não se pode cumprir uma promessa só quando nos convém. É preciso mantê-la mesmo que ela seja contrária à nossa inclinação. É isso que significa ser casado. – Eu fiz o contrário. Você deve pensar mal de mim. – Não julgo você nem ninguém. Só estou falando de mim mesma. Amo meu marido e quero que ele seja fiel. O sorriso de Bernd exprimia admiração, mas também pesar. – Espero que seu desejo se realize. – Você é um bom amigo. O sinal da primeira aula da tarde tocou. Rebecca se levantou e guardou o sanduíche de volta no invólucro de papel. Não iria comê-lo, nem agora nem mais tarde, no entanto, como a maioria das pessoas que passara pela guerra, tinha horror de jogar comida fora. Secou os olhos úmidos com um lenço de pano. – Obrigada por me escutar – agradeceu. – Não fui um grande reconforto.
– Foi, sim. – Ela saiu da sala. Ao se aproximar da sala onde daria a aula de inglês, percebeu que não tinha destrinchado a letra inteira de “The Twist”. No entanto, era professora havia tempo suficiente para improvisar. – Quem já ouviu a música “The Twist”? – perguntou em voz alta ao entrar pela porta. Todos os alunos tinham ouvido. Ela foi até o quadro-negro e pegou um cotoco de giz. – E qual é a letra da música? Todos começaram a gritar ao mesmo tempo. No quadro, ela escreveu: “Come on baby, let’s do the Twist”. Então perguntou: – Como ficaria em alemão? Por um tempo, Rebecca se esqueceu dos próprios problemas. Encontrou a carta em seu escaninho no intervalo do meio da tarde. Levou-a até a sala dos professores e preparou uma xícara de café solúvel antes de abri-la. Quando leu, derramou a bebida no chão. Era uma única folha de papel, que trazia o cabeçalho do Ministério da Segurança de Estado. Era o nome oficial da polícia secreta, conhecida extraoficialmente como Stasi. A carta estava assinada por um sargento chamado Scholz e ordenava que ela comparecesse à sua sala na sede do ministério para ser interrogada. Rebecca limpou o café derramado, desculpou-se com os colegas, fingiu que nada estava acontecendo e foi até o banheiro feminino, onde se trancou em um dos cubículos. Precisava pensar antes de se confidenciar com alguém. Qualquer habitante da Alemanha Oriental sabia sobre aquelas cartas e todos temiam receber uma delas. A correspondência significava que Rebecca tinha feito alguma coisa errada, talvez algo banal, mas que mesmo assim chamara a atenção dos observadores. Pelo que os outros diziam, não adiantava protestar inocência. A atitude da polícia seria considerar que ela com certeza era culpada de alguma coisa, caso contrário por que a estariam interrogando? Sugerir que eles pudessem ter cometido um erro era insultar sua competência, o que também era crime. Ela examinou a carta de novo e viu que o interrogatório estava marcado para as cinco horas daquela mesma tarde. O que ela poderia ter feito? Sua família era altamente suspeita, claro. O pai, Werner, era capitalista e tinha uma fábrica na qual o governo da Alemanha Oriental não podia tocar, pois estava situada na parte ocidental de Berlim. A mãe, Carla, era uma social-democrata notória. A avó, Maud, era irmã de um conde inglês. Já fazia alguns anos, porém, que as autoridades não os importunavam, e Rebecca imaginava que seu casamento com um funcionário do Ministério da Justiça lhes tivesse proporcionado uma garantia de respeitabilidade. Evidentemente não era o caso. Será que ela cometera algum crime? Tinha um exemplar do livro A revolução dos bichos,
alegoria anticomunista assinada por George Orwell que era proibida no país. Seu irmão mais novo, Walli, de 15 anos, tocava violão e cantava músicas americanas de protesto como “This Land Is Your Land”. Ela própria às vezes ia a Berlim Ocidental ver mostras de arte abstrata. Em matéria de arte, os comunistas eram tão conservadores quanto matronas vitorianas. Enquanto lavava as mãos, olhou-se no espelho. Não parecia estar com medo. Tinha o nariz reto, o queixo bem marcado e olhos castanhos penetrantes. Seus cabelos escuros rebeldes estavam presos para trás, bem apertados. Era alta e imponente, e algumas pessoas a consideravam intimidadora. Era capaz de enfrentar uma sala cheia de estudantes de 18 anos indisciplinados e silenciá-los com uma única palavra. Mas estava com medo. O que a amedrontava era saber que a Stasi poderia fazer qualquer coisa. Na realidade, nada controlava a polícia secreta: reclamar dela por si só já era crime. E isso a fazia lembrar o Exército Vermelho no final da guerra. Os soldados soviéticos tinham ficado livres para roubar, estuprar e matar alemães, e tinham feito uso dessa liberdade em uma orgia de barbárie indescritível. Sua última aula do dia, sobre a construção da voz passiva na gramática russa, foi um horror: de longe a pior que já dera desde que se formara. Os alunos não puderam deixar de notar que havia algo errado e, de modo comovente, facilitaram as coisas para a professora, chegando mesmo a lhe fazer sugestões úteis quando ela não encontrava o termo certo. Graças à indulgência deles, ela conseguiu levar a aula até o fim. Quando o dia terminou, Bernd estava trancado na sala do diretor com autoridades do Ministério da Educação, provavelmente debatendo sobre como manter a escola aberta sem metade do quadro de docentes. Rebecca não queria ir à sede da Stasi sem avisar a ninguém, só para o caso de eles decidirem mantê-la lá, por isso escreveu um bilhete para o colega avisando sobre a convocação. Então pegou um ônibus e percorreu as ruas molhadas de chuva até a Normannen Strasse, no subúrbio de Lichtenberg. A sede da Stasi ficava em um prédio comercial novo e feio. A construção estava inacabada, e havia escavadeiras no estacionamento e andaimes em um dos cantos. O lugar tinha um aspecto triste sob a chuva, e decerto não ficaria mais alegre à luz do sol. Ao entrar pela porta, ela se perguntou se algum dia tornaria a sair. Atravessou o átrio espaçoso, apresentou a carta na mesa da recepção e foi acompanhada de elevador até um andar superior. Conforme a cabine subia, seu medo ia aumentando. Ela saltou em um corredor pintado em um tom de amarelo-mostarda medonho. Foi levada até uma sala vazia, mobiliada apenas com uma mesa de tampo de plástico e duas cadeiras desconfortáveis feitas de tubos de metal. Um cheiro forte de tinta pairava no ar. Seu acompanhante saiu. Ela passou cinco minutos sentada sozinha, trêmula. Desejou ser fumante; talvez um cigarro a acalmasse. Esforçou-se para não chorar. O sargento Scholz entrou. Era um pouco mais jovem do que ela, uns 25 anos, avaliou. Vinha carregando uma pasta fina. Sentou-se, pigarreou para limpar a garganta, abriu a pasta e
franziu o cenho. Rebecca pensou que ele estivesse tentando parecer importante e que talvez aquele fosse o seu primeiro interrogatório. – A senhora é professora na Escola Politécnica de Ensino Médio Friedrich Engels – começou ele. – Sim. – Onde mora? Ela respondeu, mas achou aquilo estranho. Por acaso a polícia secreta não sabia seu endereço? Isso talvez explicasse por que a carta havia chegado na escola, e não em sua casa. Teve de dizer o nome e a idade dos pais e dos avós. – Está mentindo para mim! – disse Scholz, triunfante. – Diz que sua mãe tem 39 anos e a senhora, 29. Como ela pode ter tido a senhora aos 10 anos de idade? – Eu sou adotada – respondeu Rebecca, aliviada por ser capaz de fornecer uma explicação inocente. – Meus pais biológicos morreram no final da guerra, quando uma bomba caiu em cima da nossa casa. Na época, ela estava com 13 anos. Bombas do Exército Vermelho choviam sobre a cidade em ruínas e ela estava sozinha, perplexa e aterrorizada. Era uma adolescente roliça e fora escolhida por um grupo de soldados para ser estuprada, mas Carla a salvara, se oferecendo em seu lugar. Mesmo assim, tinha sido uma experiência aterrorizante, que deixara Rebecca hesitante e nervosa em relação ao sexo. Se Hans estava insatisfeito, com certeza a culpa devia ser dela. Ela estremeceu e tentou afastar a lembrança. – Carla Franck me salvou de... – Conteve-se bem a tempo. Os comunistas negavam que soldados do Exército Vermelho tivessem cometido estupros, embora qualquer mulher que estivesse na Alemanha Oriental em 1945 conhecesse a terrível verdade. – Ela me salvou – repetiu, pulando os detalhes controversos. – Mais tarde, ela e Werner me adotaram legalmente. Scholz anotava tudo. Não podia haver muita coisa naquela pasta, pensou Rebecca, mas algo devia haver. Se ele pouco sabia sobre a sua família, o que teria despertado seu interesse? – A senhora é professora de inglês – disse ele. – Não. Sou professora de russo. – Está mentindo outra vez. – Não, nem menti antes – retrucou ela, seca. Ficou espantada por falar com o sargento naquele tom desafiador. Não estava mais tão assustada quanto antes. Talvez aquilo fosse temerário. O rapaz pode até ser jovem e inexperiente, pensou, mas mesmo assim tem poder para destruir a minha vida. – Meu diploma é de língua e literatura russa – continuou, ensaiando um sorriso amigável. – Sou chefe do departamento de russo da minha escola. Só que metade dos nossos professores foi para o Ocidente e estamos sendo obrigados a improvisar. Por isso dei duas aulas de inglês na última semana.
– Então eu tinha razão! E nas suas aulas a senhora envenena as mentes dos alunos com propaganda americana. – Ah, que droga – grunhiu ela. – É por causa dos conselhos aos soldados americanos? Ele leu uma folha de anotações. – Está escrito aqui: “Lembre-se de que na Alemanha Oriental não existe liberdade de expressão.” Isso não é propaganda americana? – Eu expliquei aos alunos que os americanos têm um conceito pré-marxista de liberdade – respondeu Rebecca. – Imagino que o seu informante tenha se esquecido de mencionar isso. Ela se perguntou quem seria o delator. Devia ser um aluno, ou talvez um pai ou mãe que tivesse ficado sabendo sobre a aula. A Stasi tinha mais espiões do que os nazistas. – E aqui também diz: “Quando estiver em Berlim Oriental, não peça orientações à polícia. Ao contrário dos policiais americanos, eles não estão lá para ajudar vocês.” O que me diz sobre isso? – Não é verdade? Quando o senhor era adolescente, algum dia perguntou a um Vopo onde ficava uma estação do U-Bahn? Os Vopos eram a Volkspolizei, a polícia da Alemanha Oriental. – Não poderia ter achado algo mais apropriado para ensinar às crianças? – Por que o senhor não vai à nossa escola dar uma aula de inglês? – Eu não falo inglês! – Nem eu! – gritou Rebecca. Arrependeu-se na mesma hora de ter levantado a voz, mas Scholz não estava zangado; na verdade, parecia um pouco intimidado. Era claramente um novato, mas ela não deveria se descuidar. – Nem eu – repetiu, mais baixo dessa vez. – Então estou improvisando, usando qualquer material de língua inglesa que esteja disponível. – Estava na hora de um pouco de humildade fingida, pensou. – Eu obviamente cometi um erro, e sinto muito por isso, sargento. – A senhora parece uma mulher inteligente – disse ele. Ela estreitou os olhos. Seria uma armadilha? – Obrigada pelo elogio – respondeu, neutra. – Nós precisamos de pessoas inteligentes, sobretudo mulheres. Rebecca não entendeu. – Para quê? – Para ficar de olhos abertos, ver o que acontece por aí... nos avisar quando as coisas derem errado. Ela ficou estupefata. Depois de alguns instantes, incrédula, perguntou: – Está me pedindo para virar informante da Stasi? – É um trabalho importante, que visa ao bem comum. E é vital nas escolas, que é onde são forjadas as atitudes dos jovens. – Entendo. O que entendia, isso sim, era que aquele jovem agente da polícia secreta tinha cometido um
erro: checara seus antecedentes em seu local de trabalho, mas não sabia nada sobre sua notória família. Se tivesse averiguado o passado de Rebecca, Scholz jamais teria mandado chamá-la. Podia imaginar como aquilo tinha acontecido. “Hoffmann” era um dos sobrenomes mais comuns que havia e “Rebecca” não era um nome raro. Seria fácil para um novato sem experiência cometer o erro de investigar a Rebecca Hoffmann errada. – Mas as pessoas que fazem esse trabalho precisam ser totalmente honestas e confiáveis – prosseguiu ele. A afirmação era tão paradoxal que ela quase riu. – Honestas e confiáveis? – repetiu. – Para espionar os próprios amigos? – Exatamente. – Scholz pareceu não entender a ironia. – E há vantagens. – Ele baixou a voz: – A senhora se tornaria uma de nós. – Não sei o que dizer. – Não precisa decidir agora. Vá para casa e pense no assunto. Mas não converse a respeito disso com ninguém. Isso deve ser um segredo, é claro. – É claro. Ela estava começando a se sentir aliviada. Scholz não demoraria a descobrir que ela não se adequava aos seus objetivos e retiraria a proposta. Àquela altura, porém, não poderia voltar a fingir que ela fazia propaganda do imperialismo capitalista. Talvez ela conseguisse se safar daquela situação. O sargento se levantou e ela fez o mesmo. Seria possível que a sua visita à sede da Stasi fosse terminar tão bem? Parecia bom demais para ser verdade. Educado, ele segurou-lhe a porta, depois a acompanhou pelo corredor amarelo. Um grupo de cinco ou seis agentes conversava, animado, em pé junto às portas do elevador. Um deles lhe pareceu surpreendentemente familiar: um homem alto, de ombros largos, um pouco curvados, usando um terno de flanela cinza-claro que ela conhecia bem. Encarou-o enquanto se aproximava do elevador, sem compreender o que estava vendo. Aquele era seu marido, Hans. O que ele estava fazendo ali? Seu primeiro pensamento assustado foi que ele também estava sendo interrogado. Instantes depois, porém, pela maneira como os homens estavam reunidos, entendeu que ele não era tratado como suspeito. O que estaria acontecendo, então? Seu coração disparou de medo, mas de quê? Talvez o emprego de Hans no Ministério da Justiça o obrigasse a ir ali de vez em quando, pensou. Então ouviu um dos outros lhe dizer: – Mas, tenente, com todo o respeito... Não ouviu o resto da frase. Tenente? Funcionários públicos não tinham patente militar, a menos que trabalhassem para a polícia... Foi então que Hans a avistou. Ela viu as emoções cruzarem o semblante do marido; os homens eram fáceis de ler. No
início, Rebecca franziu a testa com o espanto de quem vê algo conhecido em um contexto estranho, como um nabo em uma biblioteca. Seus olhos então se arregalaram de choque ao aceitar a realidade do que estava vendo, e sua boca se entreabriu. O que mais abalou Rebecca, porém, foi a expressão seguinte: as bochechas de Hans coraram de vergonha e seus olhos se desviaram dela com um inconfundível ar de culpa. Rebecca passou vários segundos em silêncio, tentando processar aquilo. Ainda sem entender o que estava vendo, falou: – Boa tarde, tenente Hoffmann. Scholz fez uma cara surpresa e amedrontada. – A senhora conhece o tenente? – Muito bem – respondeu ela, esforçando-se para manter a compostura enquanto uma terrível suspeita começava a se formar em sua mente. – Estou começando a me perguntar se ele já vem me vigiando há algum tempo. Mas aquilo não era possível... ou era? – É mesmo? – foi a reação idiota de Scholz. Rebecca continuou encarando Hans à espera da reação do marido à sua sugestão, na esperança de que ele fosse descartá-la com uma risada e lhe dar na mesma hora a verdadeira e inocente explicação. Sua boca estava aberta, como prestes a dizer alguma coisa, mas ela pôde ver que ele não pretendia falar a verdade: na realidade, pensou, suas feições eram as de um homem que tenta desesperadamente inventar uma desculpa, mas não consegue pensar em nenhuma que dê conta de todos os fatos. Scholz estava à beira das lágrimas. – Eu não sabia! Sem tirar os olhos de Hans, Rebecca falou: – Eu sou casada com Hans. A expressão de seu marido voltou a mudar, tornando-se uma máscara de fúria à medida que a culpa se transformava em raiva. Quando enfim falou, não foi com Rebecca. – Cale essa boca, Scholz. Ela então teve certeza, e o mundo tal como o conhecia ruiu ao seu redor. Scholz estava atônito demais para acatar o aviso de Hans. – A senhora é essa Frau Hoffmann? – perguntou a Rebecca. Hans se moveu com a velocidade da fúria. Com um punho direito poderoso, partiu para o ataque e acertou um soco na cara de Scholz. O rapaz cambaleou para trás, o lábio sangrando. – Seu idiota de merda – disse Hans. – Você acabou de arruinar dois anos de árduo trabalho secreto. – Os telefonemas estranhos, as reuniões repentinas, os bilhetes rasgados – murmurou Rebecca para si mesma. Hans não estava tendo um caso. Era pior do que isso. Apesar de atordoada, ela sabia que aquela era a hora de descobrir a verdade, enquanto
todos estavam desestabilizados, antes de começarem a mentir e inventar histórias para servir como desculpa. Com esforço, conseguiu manter o foco. – Hans, você se casou comigo só para me espionar? Ele a encarou sem responder. Scholz virou as costas e se afastou cambaleando pelo corredor. – Vão atrás dele – ordenou Hans. O elevador chegou e Rebecca entrou ao mesmo tempo que ele gritava: – Peguem esse idiota e joguem-no em uma cela! Quando ele se virou para falar com a esposa, as portas do elevador se fecharam e ela apertou o botão do térreo. Ao atravessar o átrio, mal conseguia enxergar através das lágrimas. Ninguém lhe dirigiu a palavra; com certeza devia ser comum ver pessoas chorando ali. Ela encontrou o caminho até o ponto de ônibus pelo estacionamento molhado de chuva. Seu casamento era uma farsa. Ela mal conseguia absorver essa informação. Tinha ido para a cama com Hans, tinha amado aquele homem e se casado com ele, mas durante todo o tempo ele a estivera enganando. A infidelidade podia ser considerada um lapso temporário, mas Hans tinha sido falso com ela desde o início. Devia ter começado a sair com ela para espionála. Sem dúvida nunca pretendera de fato se casar com ela. Originalmente, era provável que a sua única intenção fosse um flerte que lhe permitisse ter acesso à casa. O engodo funcionara bem até demais; ele devia ter ficado chocado quando Rebecca o pedira em casamento. Talvez tivesse sido forçado a tomar uma decisão: dizer não e desistir da vigilância ou se casar com ela e seguir em frente. Talvez até seus chefes tivessem ordenado que aceitasse. Como ela podia ter sido enganada de forma tão completa? Um ônibus se aproximou e ela embarcou. Caminhou olhando para o chão até um lugar bem lá atrás e cobriu o rosto com as mãos. Pensou na época de namoro. Sempre que ela havia abordado as questões que tinham causado problemas em seus relacionamentos anteriores – seu feminismo, seu anticomunismo, sua proximidade com Carla –, Hans dera todas as respostas certas. Ela havia acreditado que os dois pensavam da mesma forma, uma afinidade quase milagrosa. Jamais lhe ocorrera que ele pudesse estar fingindo. O ônibus se arrastava em direção ao bairro central de Mitte por uma paisagem formada de entulho velho e concreto novo. Rebecca tentou pensar no futuro, mas não conseguiu. Tudo o que pôde fazer foi rememorar o passado. Lembrou-se do dia do casamento, da lua de mel e do ano que haviam passado juntos; tudo isso agora lhe parecia uma peça de teatro na qual Hans representava um papel. Ele havia lhe roubado dois anos, e isso a deixou tão furiosa que ela até parou de chorar. Recordou a noite em que o pedira em casamento. Os dois estavam passeando pelo Parque do Povo, em Friedrichshain, e haviam parado em frente ao antigo Chafariz de Conto de Fadas para admirar as tartarugas esculpidas em pedra. Rebecca estava usando um vestido azul
marinho, a cor que mais a favorecia. Hans estreava um paletó de tweed; conseguia encontrar roupas de qualidade mesmo no deserto de moda que era a Alemanha Oriental. Com os braços dele a envolvê-la, ela se sentira segura, protegida, amada. Queria um único homem para sempre, e esse homem era Hans. – Vamos nos casar – falou, com um sorriso. Ele a beijou e disse: – Que ideia maravilhosa. Fui uma boba, pensou ela, furiosa; boba e burra. Uma coisa estava explicada: Hans ainda não quisera filhos. Segundo ele, primeiro queria ser promovido de novo e comprar uma casa própria. Não havia mencionado isso antes do casamento e, levando em conta suas idades, Rebecca ficara surpresa: ela já estava com 29 anos, ele com 34. Agora sabia o verdadeiro motivo. Quando saltou do ônibus, estava cega de raiva. Caminhou depressa pelo vento e pela chuva até o antigo e alto casarão onde morava. Pela porta aberta da sala principal, pôde ver do hall a mãe muito entretida em uma conversa com Heinrich von Kessel, que tinha sido membro social-democrata do conselho municipal junto com ela após a guerra. Passou por eles depressa, sem dizer nada. Lili, sua irmã de 12 anos, fazia os deveres de casa sobre a mesa da cozinha. Ela ouviu o piano de cauda na sala íntima: seu irmão Walli estava tocando um blues. Ela subiu até o andar de dois cômodos que dividia com Hans. A primeira coisa que viu ao entrar foi a maquete do marido. Ele havia passado o primeiro ano de casamento trabalhando naquilo, uma miniatura do Portão de Brandemburgo feita com palitos de fósforo e cola. Todos os seus conhecidos tinham de guardar os fósforos usados. A maquete estava quase pronta, sobre a mesinha no meio do cômodo. Ele já havia construído o arco central e as duas laterais e estava agora fazendo a bem mais difícil quadriga, a carruagem puxada por quatro cavalos que ficava no topo do monumento. Devia estar entediado, pensou Rebecca, amargurada. Decerto aquele projeto era uma forma de passar o tempo nas noites em que era obrigado a ficar na companhia de uma mulher que não amava. Seu casamento era igual àquela maquete, uma cópia frágil do original. Ela foi até a janela e olhou para a chuva lá fora. Um minuto depois, um Trabant 500 bege parou junto ao meio-fio e Hans saltou. Como ele se atrevia a dar as caras naquela casa agora? Sem ligar para a chuva que entrou, Rebecca escancarou a janela e gritou: – Vá embora daqui! Hans parou na calçada molhada e olhou para cima. Rebecca deu com os olhos em um par de sapatos do marido no chão ao seu lado. Eram calçados feitos à mão por um velho sapateiro que ele havia encontrado. Recolheu um dos pés e o atirou em cima de Hans. Sua mira foi certeira e, apesar de ele ter desviado, foi atingido no alto da cabeça. – Sua piranha maluca! – berrou ele.
Walli e Lili apareceram. Parados na soleira da porta, ficaram olhando a irmã adulta como se ela tivesse virado outra pessoa, o que provavelmente era verdade. – Você se casou por ordem da Stasi! – gritou Rebecca pela janela. – Qual de nós dois é o maluco? – Ela jogou o outro pé de sapato e errou. – O que você está fazendo? – perguntou Lili, em tom assombrado. – Que loucura, cara... – disse Walli com um sorriso. Do lado de fora, dois passantes pararam e ficaram observando, e um vizinho surgiu na porta de casa e começou a assistir, fascinado. Hans os encarou com fúria. Era um homem orgulhoso, para quem fazer papel de bobo em público era um suplício. Rebecca olhou em volta à procura de mais alguma coisa para jogar e deparou com a maquete do Portão de Brandemburgo. Tinha uma base de madeira balsa. Rebecca a segurou com as duas mãos. Era pesada, mas ela deu conta. – Caramba! – exclamou Walli. Rebecca levou a maquete até a janela. – Não se atreva! – gritou Hans. – Isso é meu! Ela apoiou a base de madeira balsa no peitoril da janela. – Você arruinou a minha vida, seu tirano da Stasi! – berrou. Uma das pessoas que assistia à cena, uma mulher, deu uma risada que foi como um cacarejo cheio de desprezo e zombaria, e ecoou mais alto do que o barulho da chuva. Rubro de raiva, Hans olhou em volta para tentar identificar de onde viera o som, mas não conseguiu. Ouvir alguém rindo dele era o pior tipo de tortura. – Ponha essa maquete de volta no lugar, sua piranha! – vociferou ele. – Passei um ano trabalhando nela! – Foi o tempo que passei trabalhando no nosso casamento – rebateu Rebecca, e levantou a maquete. – Eu estou mandando! – esgoelou-se Hans. Rebecca empurrou a maquete pela janela e soltou. O objeto deu uma cambalhota no ar, de modo que a base ficou para cima e a quadriga para baixo. Pareceu levar uma eternidade para cair, e Rebecca teve a sensação de que o tempo havia parado. A maquete então atingiu o quintal da frente calçado de pedra com o mesmo ruído de um papel sendo amassado. Espatifou-se, e os fósforos se espalharam para todos os lados antes de caírem sobre as pedras molhadas e ficarem ali grudados como os raios de um sol em ruínas. A base de madeira agora tocava o chão, pois tudo o que antes havia em cima dela fora reduzido a pó. Hans passou vários segundos encarando a maquete destruída, com a boca aberta, em choque. Então se recuperou e apontou um dedo para Rebecca lá em cima. – Escute bem o que vou dizer – falou, e sua voz soou tão fria que ela de repente sentiu medo. – Você vai se arrepender do que fez, eu garanto. Você e sua família. Vão se arrepender
pelo resto da vida. Eu juro. Então tornou a entrar no carro e foi embora.
CAPÍTULO DOIS
Para o café da manhã, a mãe de George Jakes lhe preparou panquecas de mirtilo e bacon acompanhadas por mingau de fubá grosso. – Se eu comer tudo isso vou ter de começar a lutar na categoria peso pesado – comentou ele. George tinha 77 quilos e era o astro dos pesos meio-pesados do time de luta livre de Harvard. – Coma à vontade e desista de lutar – retrucou a mãe. – Não criei você para ser um atleta desmiolado. – Sentada em frente ao filho à mesa da cozinha, ela se serviu uma tigela de flocos de milho. George não era desmiolado e sua mãe sabia disso: estava prestes a se formar na Escola de Direito de Harvard. Já havia concluído as provas finais e, até onde isso era possível, tinha certeza de ter passado. Agora estava na modesta casa de subúrbio da mãe no condado de Prince George, em Maryland, nos arredores de Washington. – Eu quero continuar em forma – disse ele. – Talvez comece a treinar uma equipe de luta livre do ensino médio. – Isso, sim, valeria a pena. George olhou para a mãe com carinho. Sabia que Jacky Jakes tinha sido bonita: vira fotos suas quando adolescente, na época em que ela sonhava ser artista de cinema. Ela ainda parecia jovem; tinha aquele tipo de pele cor de chocolate escuro que não enruga. “Preto que é bom não racha”, diziam as mulheres negras. Mas a boca larga de sorriso tão rasgado naquelas fotos antigas tinha agora os cantos caídos, em uma permanente expressão determinada e séria. Ela nunca chegara a ser artista. Talvez nunca tivesse tido oportunidade: os poucos papéis para negras em geral acabavam indo parar nas mãos de beldades de pele mais clara. De todo modo, sua carreira tinha acabado antes mesmo de começar quando, aos 16 anos, ela engravidara de George. A expressão preocupada era resultado de ter criado o filho sozinha nos primeiros dez anos, trabalhando como garçonete, morando em uma casinha minúscula atrás da Union Station e instilando no menino a importância do trabalho duro, da educação e da respeitabilidade. – Eu te amo, mãe, mas mesmo assim vou participar da Viagem da Liberdade – disse o rapaz. Jacky contraiu os lábios em reprovação. – Você tem 25 anos – rebateu. – Pode fazer o que quiser. – Não posso, não. Sempre conversei com você antes de tomar qualquer decisão importante. E provavelmente sempre vou conversar. – Você não faz o que eu digo. – Nem sempre. Mas você continua sendo a pessoa mais inteligente que já conheci,
incluindo todo mundo lá em Harvard. – Ah, você está só me bajulando – disse Jacky, mas George pôde ver que o comentário a deixara satisfeita. – Mãe, a Suprema Corte declarou inconstitucional a segregação nos ônibus interestaduais e nas estações rodoviárias, mas o pessoal do Sul está peitando a lei e pronto. Precisamos fazer alguma coisa! – E em que você acha que essa viagem de ônibus vai ajudar? – Nós vamos embarcar aqui em Washington e seguir para o Sul. Vamos sentar na frente, usar as salas de espera só para brancos e pedir que nos sirvam em restaurantes só de brancos, e, quando as pessoas reclamarem, vamos dizer que a lei está do nosso lado e que elas são criminosas e encrenqueiras. – Filho, eu sei que você está certo. Não precisa me dizer isso. Entendo o que a Constituição diz. Mas o que você acha que vai acontecer? – Acho que alguma hora vamos acabar sendo presos. Vai haver um julgamento e nós vamos poder defender nosso ponto de vista diante do mundo. Jacky balançou a cabeça. – Espero que seja mesmo só isso. – Como assim? – Você teve uma criação privilegiada, pelo menos depois que seu pai branco reapareceu nas nossas vidas, quando você tinha 6 anos. Não sabe como é o mundo para a maioria das pessoas de cor. – Eu gostaria que você não dissesse isso. – George estava melindrado; era a mesma acusação que ativistas negros lhe faziam, e isso o irritava. – Não é porque um avô branco pagou meus estudos que sou cego. Eu sei o que acontece. – Então deve saber que ser preso talvez seja a coisa menos grave que pode lhe acontecer. E se a situação ficar violenta? George sabia que sua mãe estava certa. Os Viajantes da Liberdade podiam estar se arriscando a mais do que a prisão. Mas quis tranquilizá-la. – Eu já tive aulas de resistência passiva – falou. Todos os escolhidos para participar da Viagem da Liberdade eram ativistas experientes na luta pelos direitos civis e tinham passado por um programa de treinamento especial que incluía exercícios de simulação. – Um branco se fingiu de racista e me chamou de crioulo, me empurrou, trombou em mim e me arrastou para fora do recinto pelos calcanhares... E eu deixei, embora pudesse ter jogado o cara pela janela usando apenas um dos braços. – Quem era ele? – Um participante da campanha pelos direitos civis. – Não era de verdade. – É claro que não. Ele estava fingindo. – Está certo, então – falou Jacky e, pelo tom da voz dela, George entendeu que a mãe
estava querendo dizer o contrário. – Mãe, vai ficar tudo bem. – Não vou falar mais nada. Vai comer as panquecas ou não? – Olhe para mim – disse ele. – Terno de mohair, gravata estreita, cabelos curtos e sapatos tão engraxados que eu poderia usar as ponteiras como espelho para me barbear. Em geral, George se vestia com elegância para qualquer que fosse a ocasião, mas os Viajantes tinham sido instruídos a se arrumar de forma a parecer o mais respeitáveis possível. – Tirando essa orelha de couve-flor, você até que está bem bonito. Sua orelha direita era deformada por causa da luta. – Quem iria querer machucar um jovem de cor tão distinto? – Você não faz ideia – disse Jacky, subitamente zangada. – Aqueles brancos lá do Sul, eles... – Para consternação de George, os olhos de sua mãe ficaram marejados. – Ai, meu Deus, estou com tanto medo de que você morra! Ele estendeu a mão por cima da mesa e segurou a dela. – Vou tomar cuidado, mãe. Eu juro. Jacky secou os olhos no avental. George comeu um pouco de bacon só para agradá-la, mas estava com pouco apetite, mais ansioso do que demonstrava. Sua mãe não tinha exagerado. Alguns ativistas dos direitos civis haviam se oposto à ideia da Viagem da Liberdade por achar que provocaria violência. – Você vai passar um tempão nesse ônibus – comentou Jacky. – Treze dias daqui até Nova Orleans. Nós vamos parar todas as noites para reuniões e comícios. – O que está levando para ler? – A autobiografia de Gandhi. George sentia que devia saber mais sobre Mahatma Gandhi, cuja filosofia havia inspirado as táticas de protesto não violentas do movimento em defesa dos direitos civis. Ela pegou um livro em cima da geladeira. – Talvez ache este aqui um pouco mais divertido. É um sucesso de vendas. Os dois sempre haviam lido os mesmos livros. O pai de Jacky era professor de literatura em uma faculdade para negros e desde criança ela era uma leitora voraz. Quando George era pequeno, ele e a mãe tinham lido juntos as aventuras dos Bobbsey Twins e dos Hardy Boys, apesar de todos os heróis serem brancos. Agora, passavam regularmente um para o outro os títulos de que tinham gostado. Ele olhou para o exemplar que tinha em mãos. A capa de plástico transparente lhe informou que fora pego na biblioteca pública. – O sol é para todos – leu. – Acabou de ganhar o Pulitzer, não foi? – E a história se passa no Alabama, para onde você está indo. – Obrigado. Alguns minutos depois, ele se despediu da mãe com um beijo, saiu de casa levando uma pequena mala e pegou um ônibus até Washington. Saltou no terminal rodoviário da viação
Greyhound, no centro da cidade. Um pequeno grupo de ativistas dos direitos civis estava reunido no café. Ele já conhecia algumas pessoas dos encontros de preparação. Eram um misto de negros e brancos, homens e mulheres, velhos e jovens. Além de uns dez Viajantes, havia organizadores do Congresso da Igualdade Racial – o CORE –, uns dois jornalistas da imprensa negra e alguns simpatizantes. O CORE decidira dividir o grupo em dois, e metade dos ativistas sairia do terminal da Trailways, do outro lado da rua. Não havia cartazes nem câmeras de TV: tudo estava discreto, o que era tranquilizador. George cumprimentou Joseph Hugo, rapaz branco de olhos azuis saltados que também estudava Direito. Juntos, os dois haviam organizado um boicote na lanchonete da loja de departamentos Woolworth’s em Cambridge, Massachusetts. Assim como o serviço de ônibus, a Woolworth’s era integrada na maioria dos estados, mas segregada no Sul. Só que Joe tinha o dom de sumir antes de qualquer confronto, e George já o havia classificado como um covarde bem-intencionado. – Está vindo conosco, Joe? – perguntou, tentando disfarçar o ceticismo na voz. O outro rapaz fez que não com a cabeça. – Vim só desejar boa sorte. Ele fumava longos cigarros mentolados de filtro branco e bateu nervosamente a cinza de um deles na borda de um cinzeiro de latão. – Que pena. Você é do Sul, não é? – De Birmingham, no Alabama. – Eles vão nos tachar de forasteiros agitadores. Seria útil ter um sulista no ônibus para provar que estão errados. – Não posso, tenho coisas a fazer. George não insistiu. Já estava suficientemente assustado; se começasse a falar sobre os perigos, poderia acabar desistindo de embarcar. Olhou em volta para o grupo reunido. Ficou satisfeito ao ver John Lewis, um estudante de teologia calmo, mas de personalidade marcante, que fora um dos membros fundadores do Comitê Não Violento de Coordenação Estudantil, a mais radical das organizações em defesa dos direitos civis. Seu líder pediu atenção e começou uma curta declaração à imprensa. Enquanto ele falava, George viu um branco alto de uns 40 anos entrar no café usando um terno de linho amarrotado. Apesar de estar acima do peso, era um homem bonito, e seu rosto exibia o tom corado de quem bebe. Como parecia um passageiro do terminal, ninguém prestou atenção nele, que foi se sentar ao lado de George e, passando um braço em volta de seus ombros, deu-lhe um rápido abraço. Era o senador Greg Peshkov, seu pai. O relacionamento entre os dois era um segredo de polichinelo, conhecido pelos íntimos de Washington, mas jamais admitido publicamente. Greg não era o único político a ter um segredo desse tipo. O senador Strom Thurmond tinha bancado os estudos universitários da filha da empregada da família e, segundo os boatos, era o pai da moça – o que não o impedia
de ser um ferrenho segregacionista. Quando Greg havia aparecido, um total desconhecido para o filho de 6 anos, pedira a George que o chamasse de tio Greg, e os dois nunca haviam encontrado eufemismo melhor. Apesar de egoísta e nada confiável, Greg gostava de George à sua maneira. Quando adolescente, o rapaz tivera uma longa fase de raiva em relação a ele, mas depois passara a aceitá-lo pelo que era, raciocinando que ter um pai pela metade era melhor do que não ter pai nenhum. – George, estou preocupado – disse Greg em voz baixa. – Mamãe também. – O que ela falou? – Ela acha que aqueles racistas lá do Sul vão matar todos nós. – Não acho que isso vá acontecer, mas talvez você perca o emprego. – O Sr. Renshaw disse alguma coisa? – Ora, é claro que não, ele não sabe nada sobre o que está acontecendo... ainda. Mas, se você for preso, ele vai descobrir rapidinho. Renshaw, originário de Buffalo, era amigo de infância de Greg e sócio sênior de um prestigioso escritório de advocacia da capital. No verão anterior, Greg conseguira um emprego de verão para George como assistente jurídico no escritório e, como ambos torciam para acontecer, o cargo temporário havia conduzido a uma proposta de emprego fixo para quando ele se formasse. Era um feito e tanto: George seria o primeiro negro a trabalhar no escritório em outra função que não a de faxineiro. Com certa irritação, ele disse: – Os Viajantes da Liberdade não estão desrespeitando a lei. Estamos tentando fazer com que ela seja cumprida. Os criminosos são os segregacionistas, isso sim. Imaginei que um advogado como Renshaw fosse entender isso. – E ele entende. Mas não pode contratar um homem que teve problemas com a polícia. Acredite: seria a mesma coisa se você fosse branco. – Mas nós estamos do lado da lei! – A vida é injusta. Seus tempos de estudante universitário acabaram... Bem-vindo ao mundo real. O líder do grupo chamou: – Pessoal, por favor, comprem suas passagens e ponham as malas no bagageiro. George se levantou. – Não vou conseguir convencê-lo a desistir, não é? – perguntou Greg. Ele estava com uma cara tão arrasada que George desejou poder lhe dizer que sim, mas não podia. – Não. Eu já decidi. – Então, por favor, tente tomar cuidado. O rapaz ficou tocado.
– Tenho sorte por ter quem se preocupe comigo – falou. – Eu sei disso. Greg apertou de leve o seu braço e foi embora discretamente. George entrou na fila do guichê junto com os outros e comprou uma passagem para Nova Orleans. Foi até o ônibus azul e cinza e entregou a mala para ser guardada no compartimento de bagagens. Um grande cão galgo e os dizeres QUE CONFORTO PEGAR UM ÔNIBUS... E DEIXAR A CONDUÇÃO POR NOSSA CONTA estavam pintados na lateral da carroceria. George embarcou. Um dos organizadores da Viagem o encaminhou até um lugar na parte da frente. Outros foram instruídos a sentarem em pares de raças distintas. O motorista nem deu atenção aos Viajantes, e os passageiros normais não demonstraram mais do que uma leve curiosidade. George abriu o livro que a mãe tinha lhe dado e leu a primeira linha. Instantes depois, o organizador instruiu uma das mulheres a se acomodar ao lado de George. Satisfeito, ele meneou a cabeça para a moça. Já a encontrara algumas vezes e gostava dela; seu nome era Maria Summers. Ela usava uma roupa bem-comportada: vestido de algodão cinza-claro com decote fechado e saia rodada. Tinha a pele do mesmo tom fechado e escuro de Jacky, um nariz gracioso e achatado, e lábios que o faziam pensar em beijos. Sabia que ela estudava na Faculdade de Direito da Universidade de Chicago e que, assim como ele, estava prestes a se formar, portanto deviam ter a mesma idade. Supôs que, além de inteligente, ela também devia ser determinada: só assim para entrar na Faculdade de Direito de Chicago com duas desvantagens, já que era ao mesmo tempo negra e mulher. George fechou o livro na mesma hora em que o motorista deu a partida e fez o ônibus andar. Maria baixou os olhos e comentou: – O sol é para todos. Estive em Montgomery no verão passado. Montgomery era a capital do estado do Alabama. – Fazendo o quê? – perguntou George. – Meu pai é advogado e teve um cliente que processou o estado. Trabalhei para papai durante as férias. – E vocês ganharam a causa? – Não. Mas não quero atrapalhar sua leitura. – Imagine! Eu posso ler a qualquer hora. Não é todo dia que se pega um ônibus e uma moça bonita como você senta do nosso lado. – Ih, bem que me avisaram que você era bom de papo. – Se quiser, eu conto meu segredo para você. – Está bem, qual é o seu segredo? – Eu sou sincero. Ela riu. – Mas, por favor, não espalhe – disse ele. – Iria acabar com a minha reputação. O ônibus atravessou o rio Potomac e seguiu em direção à Virgínia pela Route 1. – Você acaba de entrar no Sul, George – comentou Maria. – Já está com medo? – Claro.
– Eu também. A rodovia reta e estreita cortava muitos quilômetros de mata verde-primavera. Eles passaram por cidadezinhas nas quais havia tão pouco a fazer que as pessoas se detinham para ver o ônibus passar. George não olhou muito pela janela. Ficou sabendo que Maria fora criada em uma família muito religiosa e que seu avô era pastor. Contou-lhe que ia à igreja principalmente para agradar à mãe, e ela confessou que era assim também. Os dois conversaram por 80 quilômetros de estrada, o caminho inteiro até Friedricksburg. Os Viajantes se calaram quando o ônibus adentrou a pequena cidade histórica na qual a supremacia branca ainda reinava. O terminal da Greyhound ficava entre duas igrejas de tijolo vermelho com portas brancas, mas no Sul o cristianismo não era necessariamente um bom indício. Quando o ônibus parou, George viu os banheiros da estação e ficou espantado por não haver placas acima das portas indicando SÓ BRANCOS ou SÓ DE COR. Os passageiros desceram para o sol forte e piscaram os olhos para adaptar a vista. Ao observar mais de perto, George viu marcas mais claras acima das portas dos banheiros e deduziu que as placas de segregação tinham sido removidas recentemente. Mesmo assim, os Viajantes começaram a executar seu plano. Primeiro um organizador branco foi usar o imundo sanitário dos fundos, obviamente destinado aos negros. Saiu de lá ileso, mas essa era a parte fácil. George já tinha se oferecido para ser a pessoa negra a desafiar as regras. – Lá vamos nós – falou para Maria, e entrou no banheiro limpo e recém-pintado cuja placa de SÓ BRANCOS sem dúvida acabara de ser removida. Lá dentro, um rapaz branco ajeitava com um pente o topete alto. Olhou para George pelo espelho, mas não disse nada. Embora estivesse assustado demais para conseguir urinar, George não podia simplesmente sair sem fazer nada, então foi lavar as mãos. O rapaz saiu do banheiro e um homem mais velho entrou e se trancou num cubículo. George secou as mãos na toalha de rolo. Depois disso não tinha mais nada a fazer, então saiu. Os outros estavam à sua espera. Ele deu de ombros e disse: – Nada. Ninguém tentou me deter, ninguém falou nada. – Eu pedi uma Coca no balcão e a garçonete me deu – falou Maria. – Acho que alguém aqui resolveu evitar problemas. – Será que é assim que vai ser até Nova Orleans? – perguntou George. – Será que eles simplesmente vão agir como se nada estivesse acontecendo e voltar a impor a segregação quando formos embora? Seria como tirar o nosso chão! – Não se preocupe – retrucou Maria. – Eu conheci as pessoas que governam o Alabama. Acredite, elas não são tão inteligentes assim.
CAPÍTULO TRÊS
Walli Franck estava tocando piano na sala íntima do andar de cima. Era um Steinway de cauda que seu pai mantinha afinado para sua avó Maud tocar. Walli estava tentando se lembrar do riff da canção “A Mess of Blues”, de Elvis Presley. A música era em clave de dó, o que facilitava as coisas. Sentada ali perto, sua avó lia os obituários do Berliner Zeitung. Aos 70 anos, era esbelta, de porte ereto, e usava um vestido de cashmere azul-escuro. – Você toca bem esse tipo de música – comentou, sem tirar os olhos do jornal. – Além dos meus olhos verdes, herdou também o meu ouvido. Seu avô Walter, que Deus o tenha, em homenagem a quem você foi batizado, nunca conseguiu tocar um ragtime. Eu bem que tentei ensinar, mas não teve jeito. – Você tocava ragtime? – perguntou Walli, surpreso. – Nunca ouvi você tocar nada a não ser música clássica. – Foi o ragtime que não nos deixou morrer de fome quando sua mãe era bebê. Depois da Primeira Guerra, eu toquei em uma boate chamada Nachtleben, aqui mesmo em Berlim. Recebia bilhões de marcos por noite, o que mal dava para comprar pão, mas às vezes ganhava gorjetas em moeda estrangeira, e com dois dólares conseguíamos viver bem por uma semana. – Caramba! Ele não conseguia imaginar a avó grisalha tocando piano em uma boate em troca de gorjetas. Sua irmã entrou na sala. Lili era quase três anos mais nova do que Walli e ultimamente ele não sabia muito bem como tratá-la. Até onde sua memória alcançava, ela sempre tinha sido uma chata, como um menino mais novo, só que ainda mais boba. Agora, porém, havia se tornado mais sensata e, para complicar mais as coisas, algumas de suas amigas já tinham seios. Ele virou as costas para o piano e pegou o violão. Havia comprado o instrumento um ano antes, em uma loja de penhores de Berlim Ocidental, provavelmente empenhado por algum soldado americano em troca de um empréstimo jamais quitado. Era da marca Martin e, embora tivesse sido barato, Walli o considerava um instrumento muito bom. Imaginou que nem o penhorista nem o soldado tinham se dado conta de seu valor. – Escute só – falou para Lili, e começou a cantar uma música das Bahamas chamada “All My Trials”, com letra em inglês. Ele a escutara em estações de rádio ocidentais, pois a canção era apreciada por grupos de folk americanos. Os acordes menores a tornavam melancólica e ele gostou do acompanhamento dedilhado triste que tinha inventado. Quando terminou de tocar, sua avó Maud olhou por cima do jornal e disse, em inglês:
– Walli querido, seu sotaque é uma lástima. – Desculpe. Ela tornou a passar para o alemão: – Mas você canta bem. – Obrigado. – Ele se virou para Lili. – O que achou da música? – Meio triste – respondeu a menina. – Talvez goste mais depois de escutar algumas vezes. – Não adianta. Quero tocá-la hoje à noite no Minnesänger. Era um clube de folk que ficava perto da Kurfürstendamm, na parte ocidental de Berlim. O nome significava “trovador” em alemão. Lili ficou admirada. – Você vai tocar no Minnesänger? – Hoje vai ser uma noite especial: eles vão fazer um concurso, qualquer um pode tocar. O vencedor ganha a oportunidade de se apresentar regularmente. – Não sabia que os clubes faziam isso. – Em geral, não fazem. É só hoje. – Você não precisa ter mais idade para entrar em um lugar desses? – perguntou sua avó Maud. – Preciso, mas já entrei. – Walli parece mais velho do que é – disse Lili. – Hum. – Você nunca cantou em público – continuou sua irmã. – Está nervoso? – Muito. – Deveria tocar alguma coisa mais alegre. – Acho que você tem razão. – Que tal “This Land is Your Land”? Essa eu adoro. Walli tocou a música, e Lili o acompanhou na letra. Enquanto eles cantavam, sua irmã mais velha, Rebecca, entrou na sala. Walli idolatrava Rebecca. Depois da guerra, quando seu pai e sua mãe tinham de trabalhar feito loucos dia e noite para alimentar a família, ela muitas vezes ficara cuidando de Walli e Lili. Era como uma segunda mãe, só que menos rígida. E como era corajosa! Assombrado, ele a vira arremessar a maquete de fósforos do marido pela janela. Walli nunca tinha gostado de Hans e em seu íntimo estava feliz por ele ter saído de casa. Os vizinhos não falavam em outra coisa: como Rebecca, sem saber, havia se casado com um agente da Stasi. O fato havia aumentado o prestígio de Walli na escola; antes disso, ninguém imaginava que a família Franck tivesse algo de especial. As meninas, sobretudo, ficavam fascinadas ao pensar que tudo o que fora dito e feito dentro daquela casa tinha sido relatado à polícia durante quase um ano. Embora Rebecca fosse sua irmã, Walli via muito bem que ela era deslumbrante. Tinha um
corpo espetacular e um rosto encantador que expressava ao mesmo tempo bondade e força. Agora, porém, reparou que ela estava com cara de enterro. Parou de tocar e perguntou: – O que houve? – Fui demitida. Sua avó Maud largou o jornal que estava lendo. – Isso é loucura! – exclamou Walli. – Os meninos da sua escola dizem que você é a melhor professora! – Eu sei. – Por que mandaram você embora, então? – Acho que foi a vingança de Hans. Walli recordou a reação do ex-cunhado ao ver sua maquete espatifada e os milhares de palitos de fósforo espalhados pela calçada molhada. “Você vai se arrepender”, gritara ele, olhando para cima através da chuva. Walli tinha considerado aquilo uma bravata, mas bastava pensar por um instante para entender que um agente da polícia secreta era poderoso o suficiente para levar a cabo uma ameaça desse tipo. “Você e a sua família”, gritara Hans, o que também incluía Walli na maldição. O rapaz estremeceu. – Eles não estão desesperados atrás de professores? – perguntou Maud. – Bernd Held está arrancando os cabelos – respondeu Rebecca. – Mas recebeu ordens superiores. – O que você vai fazer? – quis saber Lili. – Arrumar outro emprego. Não deve ser complicado. Bernd me deu uma carta de referência excelente. E como muitos professores se mudaram para o Ocidente, todas as escolas da Alemanha Oriental estão com o quadro desfalcado. – Você deveria se mudar para o Ocidente – comentou Lili. – Todos nós deveríamos nos mudar para o Ocidente – disse Walli. – Mamãe não quer e vocês sabem – falou Rebecca. – Ela diz que precisamos resolver nossos problemas, não fugir deles. Foi quando seu pai entrou na sala, vestido com um terno azul-escuro de três peças antiquado, porém elegante. – Boa noite, Werner querido – disse Maud. – Rebecca precisa de uma bebida. Ela foi demitida. A sogra sugeria com frequência que alguém precisava de uma bebida. Assim ela também podia beber. – Eu sei o que aconteceu com Rebecca – respondeu Werner. – Nós já conversamos. Ele estava de mau humor; para falar rispidamente com Maud, tinha de estar, pois nutria amor e respeito por ela. Walli se perguntou o que teria acontecido para deixar o pai chateado. Não demorou a descobrir. – Walli, venha ao meu escritório – disse Werner. – Quero dar uma palavrinha com você. – Ele atravessou a porta dupla que conduzia a uma sala íntima menor, usada como seu
escritório. Walli o seguiu. Werner sentou-se atrás da escrivaninha, e Walli entendeu que deveria permanecer em pé. – Um mês atrás nós tivemos uma conversa sobre cigarro – começou Werner. Walli sentiu-se imediatamente culpado. Tinha começado a fumar para parecer mais velho, mas pegara gosto e agora estava viciado. – Você prometeu parar – falou Werner. Na opinião de Walli, o pai não tinha nada a ver com o fato de ele fumar ou não. – Parou? – Parei – mentiu Walli. – Não sabe que deixa cheiro? – Acho que sei, sim. – Senti o cheiro assim que você entrou na sala. Walli se sentiu um bobo. Fora pego mentindo feito uma criança. Aquilo não aumentou em nada sua simpatia pelo pai. – Portanto, sei que você não parou. – Então por que perguntou? – Detestou o tom petulante da própria voz. – Na esperança de você me dizer a verdade. – Você esperava me pegar mentindo, isso sim. – Pode pensar assim, se quiser. Imagino que esteja com um maço no bolso agora mesmo. – Sim. – Ponha em cima da minha mesa. Walli tirou o maço de cigarros do bolso da calça e, irritado, jogou-o em cima da escrivaninha. Werner pegou-o e o pôs casualmente dentro de uma gaveta. Era um maço de Lucky Strike, não da marca alemã-oriental muito pior chamada “f6”, e além disso estava quase cheio. – Você vai passar todas as noites em casa durante um mês – declarou Werner. – Pelo menos assim não vai frequentar bares nos quais as pessoas tocam banjo e fumam o tempo todo. O pânico fez o estômago de Walli se contrair. Ele lutou para se manter calmo e racional. – Não é banjo, é violão. E não tem como eu ficar em casa durante um mês. – Não seja ridículo. Você vai me obedecer e pronto. – Está bem – disse Walli, desesperado. – Mas não a partir de hoje. – A partir de agora. – Mas hoje à noite eu tenho que ir ao Minnesänger! – É exatamente esse o tipo de lugar do qual quero afastá-lo. O velho era impossível! – Eu fico em casa todas as noites durante um mês a partir de amanhã, está bem? – Seu castigo não vai ser adaptado para se adequar aos seus planos. Seria contraproducente. O objetivo do castigo é atrapalhar a sua vida. Com o humor de seu pai nessa noite, seria impossível demovê-lo da decisão, mas Walli, louco de tanta frustração, tentou mesmo assim:
– Você não está entendendo! Hoje vou participar de um concurso no Minnesänger... é uma oportunidade única. – Eu não vou adiar seu castigo para permitir que você toque banjo! – É violão, seu velho idiota! Violão! – Walli saiu batendo o pé. As três mulheres na sala ao lado evidentemente tinham escutado tudo e o encararam quando ele entrou. – Ai, Walli... – disse Rebecca. O rapaz pegou seu violão e saiu da sala. Antes de chegar ao térreo, não tinha plano algum, apenas raiva; assim que viu a porta da frente, porém, soube o que tinha de fazer. Levando o instrumento, saiu da casa e bateu a porta com tanta força que fez a estrutura tremer. Uma janela do primeiro andar se abriu e ele ouviu o pai gritar: – Volte aqui! Está me ouvindo? Volte agora mesmo ou vai ficar ainda mais encrencado. Walli continuou andando. No início sentiu apenas raiva, mas depois de algum tempo começou a ficar empolgado. Tinha desafiado o pai e chegara a chamá-lo de velho idiota! Com passos saltitantes, seguiu na direção oeste. No entanto, sua euforia logo passou e ele começou a se perguntar que consequências teria de enfrentar. Seu pai levava a desobediência muito a sério. Mandava nos filhos e nos empregados, e esperava que todos o acatassem. Mas o que ele poderia fazer? Havia dois ou três anos que Walli era grande demais para apanhar. Nesse dia, seu pai tentara mantê-lo dentro de casa como se esta fosse uma prisão, mas não conseguira. Às vezes Werner ameaçava tirá-lo da escola e fazê-lo trabalhar na fábrica, mas o rapaz considerava isso uma ameaça vazia: o pai não se sentiria à vontade com um adolescente ressentido perambulando por sua preciosa fábrica. Mesmo assim, tinha a sensação de que o coroa acabaria pensando em alguma coisa. A rua em que ele estava saía da parte oriental de Berlim e entrava na parte ocidental em um cruzamento. Encostados em um canto, três Vopos fumavam. Tinham autorização para interpelar qualquer um que quisesse cruzar aquela fronteira invisível. Não podiam abordar todo mundo, era impossível: milhares de pessoas passavam por ali todos os dias, entre elas vários Grenzgänger, berlinenses da parte oriental que trabalhavam na parte ocidental em troca de salários melhores pagos em valiosos marcos alemães. Embora fosse remunerado por lucro, e não por salário, o pai de Walli era um Grenzgänger. O próprio Walli atravessava a fronteira pelo menos uma vez por semana, em geral para ir com os amigos aos cinemas da parte ocidental, que passavam filmes americanos sensuais e violentos, bem mais legais do que as fábulas moralizantes dos cinemas comunistas. Na prática, os Vopos paravam qualquer um que lhes chamasse a atenção. Famílias inteiras atravessando juntas, pais e filhos, quase com certeza eram interpeladas sob a suspeita de estarem tentando abandonar definitivamente a parte oriental, sobretudo se estivessem com bagagem. Os outros tipos que a polícia adorava importunar eram adolescentes, sobretudo se
vestidos com roupas ocidentais. Muitos rapazes da parte oriental de Berlim eram membros de gangues antiautoridade: a Gangue do Texas, a Gangue do Jeans, a Sociedade Apreciadora de Elvis Presley, entre outras. Eles odiavam a polícia, e a polícia os odiava também. Walli estava usando uma calça preta simples, camiseta branca e casaco quebra-vento bege. Bem estiloso, pensou, um pouco parecido com James Dean, mas não com o membro de alguma gangue. O violão talvez chamasse atenção, porém. Era, por excelência, o símbolo do que a polícia classificava como “incultura americana” – pior ainda do que um gibi do SuperHomem. Atravessou a rua tomando cuidado para não olhar na direção dos Vopos. Com o rabo do olho, pensou ter visto um deles o encarando. Ninguém disse nada, no entanto, e ele passou para o Mundo Livre sem ser detido. Pegou um bonde no lado sul do parque até Ku’damm. A melhor coisa da parte ocidental de Berlim, pensou, era que todas as garotas usavam meias finas. Foi até o Clube Minnesänger, situado num subsolo de uma ruazinha lateral que saía de Ku’damm, onde vendiam cerveja aguada e linguiças. Chegou cedo, mas a casa já estava enchendo. Foi falar com o jovem proprietário do estabelecimento, Danni Hausmann, e inscreveu seu nome na lista de participantes do concurso. Comprou uma cerveja sem ninguém perguntar sua idade. Muitos rapazes como ele carregavam violões, além de várias meninas e algumas pessoas mais velhas. Uma hora mais tarde, o concurso começou. Cada um tocava duas músicas. Alguns dos participantes eram novatos sem talento algum que só dedilhavam acordes simples, mas, para consternação de Walli, havia vários violonistas mais experientes do que ele. Quase todos se pareciam com os artistas americanos que imitavam. Três homens vestidos igual ao Kingston Trio cantaram “Tom Dooley”, e uma moça de longos cabelos negros tocou “The House of the Rising Sun” no violão igualzinho a Joan Baez, recebendo fortes aplausos e vivas animados. Um casal mais velho, ambos de calça de veludo, levantou-se e cantou uma canção sobre o mundo rural chamada “Im Märzen der Bauer”, acompanhada por um acordeão. Era uma música folk, mas não do tipo que aquela plateia queria. Eles receberam aplausos irônicos, mas estavam fora de moda. Enquanto esperava impacientemente a sua vez, Walli foi abordado por uma menina bonita. Acontecia muito. Ele achava o próprio rosto esquisito, com malares saltados e olhos amendoados, quase como se fosse metade japonês, mas muitas garotas o achavam bonito. A moça se apresentou como Karolin. Parecia um ou dois anos mais velha do que ele. Seus cabelos louros compridos repartidos ao meio emolduravam um rosto oval. No início, Walli pensou que ela fosse igual a todas as outras meninas fãs de folk, mas Karolin tinha um sorriso largo que fez seu coração bater descompassado. – Eu ia entrar no concurso com meu irmão ao violão, mas ele me deixou na mão... Você por acaso aceitaria fazer dupla comigo? O primeiro impulso de Walli foi dizer não. Já tinha um repertório de canções e nenhuma
delas era um dueto. Mas Karolin era um encanto e ele queria um motivo para continuar conversando com ela. – A gente precisaria ensaiar... – respondeu, em tom de dúvida. – Poderíamos ir lá fora. Em que músicas você estava pensando? – Eu ia tocar “All My Trials”, depois “This Land Is Your Land”. – Que tal “Noch Einen Tanz”? Aquela música não fazia parte do repertório de Walli, mas ele conhecia a melodia e era fácil de tocar. – Nunca pensei em cantar uma música cômica – falou. – O público iria adorar. Você pode cantar a parte do homem, quando ele diz para ela ir para casa cuidar do marido doente, e aí eu cantaria “só mais uma dança”, e faríamos juntos a última estrofe. – Vamos tentar. Eles saíram. Era início de verão e ainda estava claro. Sentaram-se na soleira de uma porta e ensaiaram a canção. Suas vozes soavam bem juntas e Walli improvisou uma harmonia na última estrofe. A voz de Karolin era um puro contralto que poderia ter uma sonoridade comovente, achou ele, e sugeriu que seu segundo número poderia ser uma canção triste, só para variar. Ela recusou “All My Trials”, deprimente demais, mas gostou de “Nobody’s Fault But Mine”, um spiritual bem lento. Quando eles ensaiaram, Walli sentiu os pelos da nuca se arrepiarem. Um soldado americano entrou no clube, sorriu para eles e disse, em inglês: – Olhem só, os Bobbsey Twins! Karolin riu e disse a Walli: – Acho que nós somos mesmo parecidos... cabelos louros, olhos verdes. Quem são os Bobbsey Twins? Walli não tinha reparado na cor dos olhos dela, e ficou lisonjeado que ela soubesse a dos seus. – Nunca ouvi falar – respondeu. – Mas é um bom nome para uma dupla. Que nem os Everly Brothers. – A gente precisa de um nome? – Se ganhar, sim. – Tudo bem. Vamos entrar. Nossa vez já deve estar chegando. – Mais uma coisa – disse ela. – Na hora de “Noch Einen Tanz”, seria bom a gente se olhar de vez em quando e sorrir. – Tudo bem. – Quase como se a gente fosse namorado, sabe? Vai ficar legal no palco. – Claro. – Não seria difícil sorrir para Karolin como se ela fosse sua namorada. Lá dentro, uma menina loura cantava “Freight Train” com um violão. Não era tão bonita quanto Karolin, mas tinha uma beleza mais óbvia. Depois dela, um violonista virtuose tocou
um blues dedilhado complexo. Então Danni Hausmann chamou o nome de Walli. Ele ficou tenso ao encarar a plateia. A maioria dos violonistas tinha estilosas bandoleiras de couro, mas ele nunca se dera ao trabalho de arrumar uma, e o instrumento pendia de seu pescoço por um pedaço de barbante. Nessa hora, desejou ter uma bandoleira. – Boa noite – disse Karolin. – Nós somos os Bobbsey Twins. Walli tocou um acorde e começou a cantar, e descobriu que não estava mais ligando para o fato de não ter bandoleira. Como a música era uma valsa, tocou em ritmo vivaz. Karolin fingiu ser uma mulher de vida fácil, e Walli respondeu se transformando em um rígido tenente prussiano. A plateia riu. Foi então que algo aconteceu com Walli. Devia haver apenas umas cem pessoas no recinto e o barulho que elas fizeram não passou de uma risadinha coletiva de apreciação, mas aquilo lhe causou uma sensação que ele nunca havia experimentado antes, um pouco parecida com a da primeira tragada de um cigarro. A plateia riu várias outras vezes, e no final da canção aplaudiu bem alto. Walli gostou disso mais ainda. – Eles adoraram a gente! – sussurrou Karolin, animada. Walli começou a tocar “Nobody’s Fault But Mine”, puxando as cordas de aço com as unhas para acentuar a dramaticidade das sétimas plangentes, e a multidão se calou. Karolin mudou de atitude, tornando-se uma mulher caída em desgraça e tomada pelo desespero. Walli observou a plateia: ninguém conversava. Uma mulher ficou com os olhos marejados, e ele imaginou se ela teria passado pelas coisas sobre as quais falava a canção. A concentração silenciosa do público era ainda melhor do que suas risadas. No final da interpretação, todos gritaram e pediram bis. Como a regra era duas músicas por dupla, Walli e Karolin desceram do palco e ignoraram os pedidos, mas Hausmann lhes disse para voltar. Em pânico, eles se entreolharam; não tinham ensaiado uma terceira canção. Então Walli perguntou: – Você conhece “This Land Is Your Land”? Karolin assentiu. O público cantou junto, obrigando Karolin a aumentar o tom de voz, e Walli ficou surpreso com a sua potência. Ele cantou uma harmonia aguda, e suas vozes se ergueram acima do barulho da plateia. Quando por fim deixaram o palco, Walli estava empolgadíssimo. Os olhos de Karolin brilhavam. – A gente se saiu muito bem! – comentou ela. – Você é melhor do que o meu irmão. – Você tem um cigarro? – perguntou Walli. Fumando, eles assistiram a mais uma hora de concurso. – Acho que fomos os melhores – disse Walli. Karolin se mostrou mais cautelosa.
– Eles gostaram da loura que cantou “Freight Train”. Por fim, o resultado saiu. Os Bobbsey Twins ficaram em segundo lugar. A vencedora foi a sósia de Joan Baez. – Ela mal sabia tocar! – reclamou Walli, zangado. – Mas as pessoas adoram Joan Baez – comentou Karolin, mais filosófica. A casa começou a esvaziar e os dois se encaminharam para a porta. Walli estava desanimado. Quando saíam, Danni Hausmann os deteve. Tinha uns 20 e poucos anos e usava roupas modernas e casuais: suéter preto de gola rulê e calça jeans. – Vocês poderiam tocar meia hora segunda que vem? Walli ficou espantado demais para reagir, mas Karolin respondeu na hora: – Claro! – Mas quem ganhou foi a dublê da Joan Baez – disse Walli, e imediatamente pensou: “Por que estou discutindo?” – Vocês dois parecem capazes de alegrar uma plateia por mais de um ou dois números – retrucou Danni. – Têm músicas suficientes para um set? Walli hesitou outra vez, e novamente quem respondeu foi Karolin: – Na segunda-feira teremos – garantiu. Walli lembrou que o pai planejava mantê-lo em casa à noite durante um mês, de castigo, mas resolveu não mencionar isso. – Obrigado – falou Danni. – Vocês vão tocar cedo, às oito e meia. Cheguem às sete e meia. Ao saírem para a rua agora iluminada pela luz do poste, os dois estavam nas nuvens. Walli não tinha a menor ideia do que faria em relação ao pai, mas estava otimista de que tudo daria certo. No fim das contas, Karolin também morava na parte oriental de Berlim. Eles pegaram um ônibus e começaram a conversar sobre os números que apresentariam na semana seguinte. Conheciam várias das mesmas canções folk. Saltaram do ônibus e tomaram o rumo do parque. Karolin franziu a testa e falou: – O cara ali atrás. Walli olhou para trás. Um homem de boina caminhava uns 30, 40 metros atrás deles, fumando. – O que tem ele? – Não estava lá no Minnesänger? Apesar de Walli encará-lo, o homem não cruzou olhares com ele. – Acho que não – respondeu. – Você gosta dos Everly Brothers? – Gosto! Enquanto caminhavam, Walli começou a tocar “All I Have to Do Is Dream” no violão pendurado no pescoço pelo barbante. Animada, Karolin se juntou a ele. Os dois atravessaram o parque cantando. Walli tocou “Back in the USA”, o sucesso de Chuck Berry.
Estavam entoando a plenos pulmões o refrão “I’m so glad I’m living in the USA” quando Karolin parou de repente. – Shh! – sussurrou ela. Walli percebeu que tinham chegado à fronteira e viu três Vopos debaixo de um poste olhando para eles com cara de mau. Calou-se na mesma hora e torceu para que tivessem parado de cantar a tempo. Um dos policiais era sargento e olhou para trás de Walli. Quando o rapaz se virou, viu o homem da boina menear de leve a cabeça. O sargento deu um passo em direção ao casal. – Documentos – pediu. O homem da boina começou a falar em um walkie-talkie. Walli franziu a testa. Karolin parecia estar certa: eles tinham sido seguidos. Ocorreu-lhe que Hans talvez estivesse por trás daquilo. Será que seu ex-cunhado podia ser tão mesquinho e vingativo? Sim, podia. O sargento examinou a identidade de Walli e comentou: – Você tem só 15 anos. Não deveria estar na rua a esta hora. Walli mordeu a língua. De nada adiantava discutir com a polícia. Depois de olhar a identidade de Karolin, o sargento prosseguiu: – E você tem 17! O que está fazendo com esse pirralho? O comentário fez Walli se lembrar da briga com o pai, e ele respondeu, zangado: – Eu não sou pirralho. O sargento o ignorou. – Você poderia sair comigo – disse ele para Karolin. – Eu sou um homem de verdade. Os dois outros Vopos deram risadas de aprovação. Karolin não respondeu, mas o sargento insistiu. – Que tal? – O senhor deve estar maluco – falou Karolin baixinho. – Que falta de educação – disse ele, ofendido. Walli já tinha reparado nisso em relação a alguns homens. Quando uma garota lhes dava um fora, eles ficavam indignados, mas qualquer outra reação era considerada um incentivo. Como as mulheres deviam agir, então? – Devolva minha identidade, por favor – pediu Karolin. – Você é virgem? – perguntou o sargento. Karolin enrubesceu. Os dois outros policiais tornaram a rir. – Deviam pôr isso nas identidades das mulheres – disse o sargento. – Virgem ou não. – Pare com isso – falou Walli. – Eu sou delicado com as virgens. – Esse uniforme não lhe dá o direito de importunar garotas! – protestou Walli, indignado. – Ah, não? – O sargento não devolveu suas identidades.
Um Trabant 500 bege se aproximou e Hans Hoffmann saltou do carro. Walli começou a ficar com medo. Como podia ter se metido numa encrenca tão grande? Tudo o que tinha feito fora cantar no parque. Hans se aproximou e disse: – Deixe-me ver esse troço aí em volta do seu pescoço. Walli tomou coragem e retrucou: – Por quê? – Porque desconfio de que está sendo usado para contrabandear propaganda capitalistaimperialista para a República Democrática da Alemanha. Me dê isso aqui. O violão era tão precioso que, mesmo assustado, Walli não o entregou. – E se eu não der? Vou ser preso? O sargento esfregou as articulações da mão direita com a palma da esquerda. – No fim das contas, sim – respondeu Hans. A coragem de Walli se esgotou. Ele passou o barbante por cima da cabeça e entregou o violão. Hans segurou o instrumento como se fosse tocá-lo, bateu nas cordas e cantou, em inglês: – You ain’t nothing but a hound dog. Os Vopos deram risadas histéricas. Aparentemente, até a polícia ouvia música pop no rádio. Hans enfiou a mão sob as cordas do violão e tentou tatear dentro da boca. – Cuidado! – exclamou Walli. A primeira corda de cima, o mi, se partiu com um estalo. – Isso é um instrumento delicado! – protestou Walli, desesperado. As cordas impediam Hans de enfiar a mão lá dentro. – Alguém tem uma faca? – pediu ele. O sargento pôs a mão dentro do casaco e sacou uma faca de lâmina larga; Walli tinha certeza de que aquilo não fazia parte de seu equipamento-padrão. Hans tentou usar a faca para cortar as cordas, mas eram mais duras do que ele imaginara. Conseguiu arrebentar o si e o lá, mas não foi capaz de cortar as mais grossas. – Não tem nada aí dentro – disse Walli em tom de súplica. – Dá para sentir pelo peso! Hans olhou para ele, sorriu e então desceu a faca com força, com a ponta virada para baixo, bem no tampo do violão, perto do cavalete. A lâmina penetrou a madeira de uma vez só, e Walli deixou escapar um grito de dor. Satisfeito com essa reação, Hans repetiu o gesto, abrindo vários furos no violão. Com a superfície enfraquecida, a tensão das cordas fez o cavalete e a madeira em volta se soltarem do corpo do instrumento. Hans então acabou de arrancá-lo, revelando o interior parecido com um caixão vazio. – Nada de propaganda – falou. – Parabéns... você é inocente. Entregou a Walli o violão destruído.
Com um sorriso forçado, o sargento devolveu as carteiras de identidade. Karolin segurou Walli pelo braço e o afastou dos outros. – Venha – falou em voz baixa. – Vamos embora daqui. Walli deixou que ela o conduzisse. Mal conseguia ver para onde estava indo. Não conseguia parar de chorar.
CAPÍTULO QUATRO
George Jakes embarcou em um ônibus da Greyhound em Atlanta, Geórgia, em 14 de maio de 1961, um domingo. Era Dia das Mães. Ele estava com medo. Maria Summers estava sentada ao seu lado. Os dois sempre viajavam juntos. Aquilo havia se tornado um hábito; todos partiam do princípio que o lugar vazio ao lado de George estava reservado para Maria. Para disfarçar o nervosismo, ele puxou papo com ela: – Então, o que achou de Martin Luther King? King era o líder da Conferência da Liderança Cristã do Sul, um dos mais importantes grupos de direitos civis. Eles o haviam conhecido na noite anterior, durante um jantar em um dos restaurantes de Atlanta cujo proprietário era negro. – Ele é um homem fantástico – respondeu Maria. George não tinha tanta certeza. – Ele falou maravilhas sobre os Viajantes da Liberdade, mas não está aqui no ônibus com a gente. – Ponha-se no lugar dele – ponderou Maria. – Ele é o líder de outro grupo de direitos civis. Um general não pode virar soldado em outro regimento que não o seu. Ele não tinha visto a questão sob esse viés. Como Maria era inteligente! George já estava meio apaixonado. Vivia desesperado por uma oportunidade de ficar a sós com ela, mas as pessoas que hospedavam os Viajantes eram cidadãos negros confiáveis e respeitáveis, muitos deles cristãos praticantes, que nunca teriam permitido que seus quartos de hóspedes fossem usados para dar uns amassos. E Maria, por mais atraente que fosse, não fazia nada a não ser sentar-se ao seu lado, conversar com ele e rir das suas piadas. Nunca fazia os pequenos gestos que sugeriam que uma mulher queria ser mais do que amiga: não tocava seu braço, não segurava sua mão ao descer do ônibus nem pressionava o corpo junto ao dele em uma multidão. Ela não flertava. Talvez até ainda fosse virgem, mesmo aos 25 anos. – Você passou um tempão conversando com King – comentou ele. – Se ele não fosse pastor, eu diria que estava me dando uma cantada – disse ela. George não soube muito bem como reagir a esse comentário. Não ficaria surpreso se um pastor desse uma cantada em uma moça charmosa como Maria, mas a considerava ingênua em relação aos homens. – Também conversei um pouco com ele. – E o que ele falou? George hesitou. O que o deixara com medo tinham sido justamente as palavras de King. Decidiu lhe contar mesmo assim: ela tinha o direito de saber.
– Que não vamos conseguir passar pelo Alabama. Maria empalideceu. – Foi isso mesmo que ele disse? – Exatamente isso. Agora os dois estavam com medo. O Greyhound se afastou da rodoviária. Nos primeiros dias, George temeu que a Viagem da Liberdade fosse ser pacífica demais. Os passageiros brancos dos ônibus não reagiram aos negros e negras sentados nos lugares errados, e às vezes até cantavam com eles suas canções. Nada aconteceu quando os Viajantes desafiaram placas de SÓ BRANCOS e SÓ DE COR nas rodoviárias. Algumas cidades tinham até passado tinta sobre as placas. George temeu que os segregacionistas tivessem bolado a estratégia perfeita. Não havia confusão nem publicidade, e os Viajantes de cor eram servidos educadamente nos restaurantes para brancos. Toda noite, desciam dos ônibus e faziam reuniões sem serem importunados, em geral nas igrejas, depois pernoitavam na casa de simpatizantes. Mas George tinha certeza de que, assim que eles saíssem de cada cidade, as placas seriam recolocadas e a segregação voltaria, e a Viagem da Liberdade teria sido uma perda de tempo. A ironia chamava a atenção. Até onde sua memória alcançava, George se magoara e se enfurecera com a constante mensagem – às vezes implícita, mas muitas vezes dita em voz alta – de que ele era inferior. Não fazia diferença ser mais inteligente do que 99% dos americanos brancos. Tampouco ser trabalhador, educado e bem vestido. Ele era sempre menosprezado por uma gente branca feia que era burra ou preguiçosa demais para fazer qualquer coisa mais difícil do que servir bebidas ou abastecer automóveis. Não podia entrar em uma loja de departamentos, sentar-se em um restaurante ou se candidatar a um emprego sem se perguntar se iriam ignorá-lo, pedir-lhe que saísse ou rejeitá-lo por causa da sua cor. Essa situação lhe causava um ressentimento insuportável. Mas agora, paradoxalmente, estava desapontado por isso não estar acontecendo. Enquanto isso, a Casa Branca vacilava. No terceiro dia da Viagem, o secretário de Justiça Robert Kennedy tinha feito um discurso na Universidade da Geórgia prometendo aplicar os direitos civis no Sul. Então, três dias mais tarde, o presidente – seu irmão – dera um passo atrás, retirando o apoio a dois projetos de lei sobre direitos civis. Seria assim que os segregacionistas iriam vencer, perguntou-se George? Evitando o confronto, depois tocando a vida como antes? Não era. A paz durou apenas quatro dias. No quinto dia da Viagem, um dos manifestantes foi preso por insistir no direito de ter seus sapatos engraxados. A violência começou no sexto. A vítima foi John Lewis, o estudante de teologia. Atacado por brutamontes em um banheiro para brancos de Rock Hill, na Carolina do Sul, Lewis deixou que os homens o socassem e
chutassem sem reagir. George não viu o incidente, o que provavelmente foi uma coisa boa, pois não tinha certeza se teria conseguido demonstrar o mesmo autocontrole do outro rapaz, digno de Gandhi. Nos jornais do dia seguinte, leu notas curtas sobre a agressão, mas decepcionou-se ao ver a notícia ofuscada pelo voo de foguete de Alan Shepard, o primeiro americano no espaço. Que importância tem isso?, pensou, amargurado. O cosmonauta soviético Yuri Gagarin tinha sido o primeiro homem a ir ao espaço, menos de um mês antes. Os russos chegaram na nossa frente. Um americano branco pode flutuar na órbita da Terra, mas um americano negro não pode entrar em um toalete. Então, em Atlanta, os Viajantes foram aplaudidos por uma multidão de boas-vindas ao descer do ônibus, e George tornou a ficar animado. Mas Atlanta ficava na Geórgia, e agora eles estavam a caminho do Alabama. – Por que King falou que a gente não iria passar pelo Alabama? – perguntou Maria. – Corre um boato de que a Ku Klux Klan está planejando alguma coisa em Birmingham – respondeu George, soturno. – Parece que o FBI sabe, mas não fez nada para impedir. – E a polícia local? – A polícia faz parte da droga da KKK. – E aqueles dois ali? – Com um gesto da cabeça, Maria indicou os assentos do outro lado do corredor, na fila atrás deles. George olhou por cima do ombro e viu dois brancos fortões sentados juntos. – O que tem? – Não acha que eles têm cara de agentes? Ele entendeu o que ela estava falando. – Acha que são do FBI? – As roupas deles são vagabundas demais para o FBI. Meu palpite é que são agentes da polícia rodoviária do Alabama, disfarçados. – Como é que você ficou tão inteligente? – perguntou George, impressionado. – Minha mãe me fez comer verdura. E meu pai é advogado em Chicago, capital norteamericana dos gângsteres. – E o que você acha que esses dois estão fazendo? – Não tenho certeza, mas não acho que estejam aqui para defender nossos direitos civis, e você? George olhou pela janela e viu uma placa que dizia AQUI COMEÇA O ALABAMA. Olhou para o pulso. Era uma da tarde. O sol brilhava no céu azul. Que lindo dia para morrer, pensou. Maria queria trabalhar com política ou no governo. – Os manifestantes podem ter um grande impacto, mas no fim das contas quem transforma o mundo são os governos – disse ela. George refletiu, pensando se concordava. Maria tinha se candidatado a um emprego na assessoria de imprensa da Casa Branca e sido chamada para a entrevista, mas não conseguira
a vaga. – Lá em Washington eles não contratam muitos advogados negros – continuou ela, com ar tristonho. – Provavelmente vou ficar em Chicago e trabalhar no escritório do meu pai. Sentada ao lado de George do outro lado do corredor estava uma mulher branca de meiaidade, sobretudo e chapéu, que segurava no colo uma grande bolsa de plástico branco. George sorriu para ela e disse: – Que dia lindo para andar de ônibus. – Vou visitar minha filha em Birmingham – falou a mulher, embora ele não tivesse perguntado. – Que ótimo. George Jakes, prazer. – Cora Jones. Sra. Jones. Minha filha vai ter neném daqui a uma semana. – O primeiro? – Terceiro. – Bem, se me permite dizer, a senhora parece jovem demais para ser avó. – Tenho 49 anos – disse ela, dengosa. – Eu nunca teria adivinhado! Outro Greyhound vindo no sentido contrário piscou o farol e o ônibus dos Viajantes diminuiu a velocidade. Um homem branco se aproximou da janela do motorista e George o escutou dizer: – Tem um povo reunido lá na rodoviária de Anniston. – O motorista respondeu alguma coisa que George não ouviu. – Tomem cuidado – disse o homem à janela. O ônibus seguiu viagem. – Como assim, um povo reunido? – indagou Maria, aflita. – Podem ser vinte pessoas ou mil. Pode ser um comitê de boas-vindas ou uma multidão enfurecida. Por que ele não deu mais detalhes? George pensou que a irritação dela devia esconder o medo. Lembrou-se das palavras da mãe: “Estou com tanto medo de que você morra!” Algumas pessoas no movimento se diziam prontas para morrer pela causa da liberdade, mas George não tinha certeza se queria se tornar um mártir. Havia muitas outras coisas que ainda pretendia fazer, como, por exemplo, transar com Maria. Um minuto depois, eles entraram em Anniston, uma cidadezinha igual a qualquer outra do Sul: construções baixas, ruas em ângulo reto, atmosfera quente e empoeirada. Os meios-fios estavam cheios de gente, como em um desfile. Muitos estavam arrumados, as mulheres de chapéu, as crianças de banho tomado; decerto tinham ido à igreja. – O que eles esperam ver, pessoas com chifres? – comentou George. – Estamos aqui, pessoal. Verdadeiros negros do Norte, de sapato e tudo. – Falou como se estivesse se dirigindo às pessoas lá fora, embora apenas Maria pudesse escutá-lo. – Viemos levar embora suas armas e ensinar a vocês o comunismo. Onde as garotas brancas vão nadar? Maria deu uma risadinha.
– Se eles pudessem ouvi-lo, não saberiam que você está brincando. Na verdade, ele não estava brincando; era mais como se estivesse assobiando ao passar por um cemitério. Estava tentando ignorar o medo que contraía suas entranhas. O ônibus virou para entrar na rodoviária estranhamente deserta. Os prédios pareciam fechados e trancados. George achou aquilo sinistro. O motorista abriu as portas do ônibus. George não viu de onde os homens saíram, mas, de repente, o veículo foi cercado. Eram todos brancos, alguns de roupa de trabalho, outros usando ternos de domingo. Seguravam tacos de beisebol, canos de metal e pedaços de correntes de ferro. E gritavam. A maior parte do que diziam era uma algaravia incompreensível, mas George ouviu algumas palavras de ódio, entre elas Sieg heil! Levantou-se, e seu primeiro impulso foi fechar a porta do ônibus, mas os dois homens que Maria havia identificado como policiais rodoviários foram mais rápidos e as fecharam com um baque. Talvez eles estejam aqui para nos defender, pensou George; ou talvez estejam apenas defendendo a si mesmos. Olhou pelas janelas em todas as direções. Não havia nenhum policial do lado de fora. Como era possível a polícia não saber que uma turba armada tinha se reunido na rodoviária? Ela devia estar mancomunada com a KKK. Não era nenhuma surpresa. Um segundo depois, os homens atacaram o ônibus com suas armas. Uma cacofonia assustadora ecoou quando correntes e pés de cabra amassaram a carroceria. Vidraças se estilhaçaram, e a Sra. Jones deu um grito. O motorista tornou a ligar o ônibus, mas um dos homens lá fora se deitou na frente das rodas. George pensou que o motorista talvez fosse passar por cima do sujeito, mas ele parou. Uma pedra voou pela janela e estraçalhou o vidro, e George sentiu uma agulhada na bochecha, como a picada de uma abelha: tinha sido atingido por um estilhaço. Sentada junto a uma janela, Maria estava correndo perigo. George a pegou pelo braço e a puxou na sua direção. – Ajoelhe-se no corredor! – gritou. Um homem de sorriso arreganhado enfiou a mão pela janela ao lado da Sra. Jones; usava um soco-inglês. – Abaixe-se aqui comigo! – gritou Maria, puxando a Sra. Jones e envolvendo a mulher mais velha com os braços em um gesto protetor. Os gritos ficaram mais altos. – Comunistas! – gritavam os homens. – Covardes! – Abaixe-se, George! – falou Maria. Mas George não conseguiu se forçar a se acovardar diante daqueles arruaceiros. De repente, o barulho diminuiu. As batidas nas laterais do ônibus cessaram e não se ouviu mais nenhum vidro quebrando. George viu um policial. Já não era sem tempo, pensou.
Apesar de ter um cassetete na mão, o policial conversava amigavelmente com o homem do soco-inglês. Então George viu três outros policiais. Eles haviam acalmado a multidão, mas, para sua indignação, não estavam fazendo mais nada. Agiam como se nenhum crime houvesse sido cometido. Conversavam casualmente com os arruaceiros, que pareciam ser seus amigos. Sentados em seus lugares, os dois policiais rodoviários pareciam atônitos. George imaginou que sua missão fosse espionar os Viajantes e que não imaginavam que se tornariam vítimas da violência de uma turba armada. Tinham sido forçados a ficar do lado dos Viajantes para se defender. Talvez aprendessem a ver as coisas sob um novo ponto de vista. O ônibus andou. Pelo para-brisa, George viu que um policial mandava os homens saírem da frente enquanto outro acenava para o motorista seguir. Do lado de fora da rodoviária, um carro de polícia entrou na frente do ônibus e o conduziu pela rua até fora da cidade. George começou a se sentir melhor. – Acho que escapamos – falou. Maria se levantou; não parecia ferida. Pegou um lenço no bolso do paletó de George e limpou seu rosto delicadamente. O algodão branco ficou sujo de sangue. – Abriu um cortezinho bem feio – comentou ela. – Vou sobreviver. – Mas não vai mais ser tão bonito. – Eu sou bonito? – Antes era, mas agora... O instante de normalidade não durou. Ao olhar para trás, George viu uma longa fila de caminhonetes e carros seguindo o ônibus. Os veículos pareciam cheios de homens aos gritos. Ele soltou um grunhido. – Escapamos nada – falou. – Lá em Washington, antes de embarcarmos, vi você conversando com um rapaz branco – comentou Maria. – Joseph Hugo – disse George. – Ele estuda Direito em Harvard. Por quê? – Acho que eu o vi com aqueles homens lá atrás. – Joseph Hugo? Não. Ele está do nosso lado. Você deve estar enganada. Mas Hugo era do Alabama, lembrou George. – Ele tinha uns olhos azuis esbugalhados – observou Maria. – Se ele estiver com aqueles homens, isso quer dizer que passou todo esse tempo fingindo apoiar os direitos civis... e nos espionando. Ele não pode ser um dedo-duro. – Será que não? George tornou a olhar para trás. A escolta da polícia deu meia-volta no limite da cidade, mas os outros carros, não. Os homens nos veículos gritavam tão alto que era possível ouvi-los mesmo com o barulho de todos os motores.
Depois dos subúrbios, em um trecho comprido e deserto da Rodovia 202, dois automóveis ultrapassaram o ônibus e diminuíram a velocidade, obrigando o motorista a frear. Ele tentou ultrapassá-los, mas eles se moveram de um lado para outro da estrada para impedir a passagem. Pálida e trêmula, Cora Jones segurava a bolsa de plástico branco como se fosse uma boia salva-vidas. – Sinto muito termos envolvido a senhora nisso, Sra. Jones. – Eu também – retrucou ela. Os carros mais à frente finalmente abriram caminho, e o ônibus os ultrapassou. Mas o calvário não havia terminado: o comboio continuou a segui-los. George então ouviu um barulho de estalo conhecido. Quando o ônibus começou a ziguezaguear pela estrada, entendeu que era um pneu furado. O motorista parou junto a uma mercearia de beira de estrada cuja placa George pôde ler: Forsyth & Filho. O motorista saltou. George o ouviu dizer: – Dois pneus furados? Ele então entrou na loja, decerto para telefonar chamando ajuda. George estava tenso. Um pneu furado era só um acidente; dois eram uma emboscada. Estava certo: os carros do comboio estavam parando, e uma dúzia de homens brancos vestidos com seus ternos de domingo saltou, berrando injúrias e brandindo as armas qual selvagens em guerra. O ventre de George se contraiu outra vez quando ele os viu correr em direção ao ônibus com suas caras feias contorcidas de raiva, e ele entendeu por que os olhos de sua mãe tinham ficado marejados ao falar sobre os brancos do Sul. À frente do grupo vinha um adolescente, que ergueu um pé de cabra e estilhaçou alegremente uma janela. O homem logo atrás tentou entrar no ônibus. Um dos dois passageiros brancos fortões foi se postar no alto da escada e sacou um revólver, confirmando a teoria de Maria de que eram policiais rodoviários à paisana. O intruso recuou e o policial trancou a porta. George temeu que isso tivesse sido um erro. E se os Viajantes precisassem sair às pressas? Os homens lá fora começaram a balançar o ônibus como se tentassem virá-lo, sem parar de gritar: “Morte aos crioulos! Morte aos crioulos!” Passageiras gritavam. Maria se pendurou em George de um jeito que talvez tivesse lhe agradado caso ele não estivesse temendo pela própria vida. Do lado de fora, viu dois policiais rodoviários de uniforme se aproximarem e ficou mais esperançoso; para sua fúria, porém, eles nada fizeram para conter os agressores. George olhou para os dois agentes à paisana no ônibus: eles pareciam bobos e amedrontados. Estava claro que os uniformizados lá fora não sabiam sobre os colegas à paisana. Pelo visto, além de racista, a polícia rodoviária do Alabama era desorganizada. Desesperado, George olhou em volta à procura de algo que pudesse fazer para proteger Maria e a si mesmo. Descer do ônibus e sair correndo? Deitar no chão? Pegar a arma de um
dos policiais e atirar nos brancos? Todas essas possibilidades pareciam ainda piores do que não fazer nada. Furioso, encarou os dois policiais lá fora, que assistiam como se nada estivesse acontecendo. Eles eram da polícia, pelo amor de Deus! O que estavam fazendo? Se não eram capazes de aplicar a lei, que direito tinham de estar usando aquele uniforme? Foi então que viu Joseph Hugo. Não havia como se enganar: George conhecia muito bem aqueles olhos azuis esbugalhados. Hugo abordou um dos policiais e lhe disse alguma coisa, e os dois riram. Ele era mesmo um dedo-duro. Se eu sair desta vivo, pensou George, esse canalha vai se arrepender. Os homens do lado de fora gritaram para os Viajantes saírem. George ouviu alguém dizer: – Venham aqui receber o que merecem, seus amigos de crioulos! Isso o fez pensar que estaria mais seguro no ônibus. Mas não por muito tempo. Um dos integrantes da turba tinha voltado até seu carro e aberto o porta-malas, e agora corria em direção ao ônibus com alguma coisa acesa nas mãos. Atirou uma trouxa em chamas por uma das janelas estilhaçadas. Segundos depois, a trouxa explodiu em meio a uma fumaça cinza. Mas a arma não era apenas uma bomba de fumaça: também pôs fogo no estofamento dos bancos, e em poucos segundos espirais de fumaça preta e espessa começaram a sufocar os passageiros. – Tem algum ar aí na frente? – gritou uma mulher. Do lado de fora, George ouvia gritos: – Fogo nos crioulos! Vamos fritar os crioulos! Todos tentaram sair pela porta. O corredor estava abarrotado de pessoas tossindo. Algumas conseguiam avançar, mas algo parecia bloqueá-las. – Desçam! – berrou George. – Todo mundo para fora! Da frente, alguém berrou de volta: – A porta não abre! George lembrou que o policial do revólver tinha trancado a porta para impedir os homens de entrar. – Vamos ter que pular pelas janelas! Venham! Ele ficou em pé sobre um dos bancos e chutou pela janela a maior parte do vidro restante. Então tirou o paletó do terno e usou-o para forrar a soleira e proporcionar alguma proteção contra os cacos afiados ainda presos ao batente. Maria tossia sem parar. – Eu vou primeiro e pego você – disse George. Segurou o encosto do assento para se equilibrar, dobrou o corpo na cintura e pulou. Ouviu a camisa se rasgar em um caco de vidro, mas não sentiu nenhuma dor e concluiu que tivesse escapado sem se ferir. Aterrissou na grama do acostamento. Amedrontada, a turba havia
recuado para longe do ônibus em chamas. George se virou e ergueu os braços para Maria. – Passe como eu fiz! – gritou. Os sapatos de salto dela eram frágeis comparados aos oxfords de bico reforçado que George calçava, e ele ficou satisfeito de ter sacrificado o paletó quando viu seus pezinhos sobre o batente. Maria era mais baixa do que ele, mas suas curvas generosas a tornavam mais larga. Ele fez uma careta quando seu quadril roçou em um caco na hora em que ela se espremeu para passar, mas o vidro não rasgou a fazenda do vestido e instantes depois ela caiu nos seus braços. George a segurou sem dificuldade; ela não era pesada e ele estava em boa forma. Pousou-a no chão, mas ela caiu ajoelhada, arquejando em busca de ar. Ele olhou em volta. Os arruaceiros continuavam a manter distância. Tornou a olhar para dentro do ônibus. Em pé no corredor, Cora Jones tossia e girava, chocada e atarantada demais para fugir. – Cora, aqui! – gritou George. Ela ouviu o próprio nome e olhou para ele. – Passe pela janela como nós fizemos! Eu ajudo você! Ela pareceu entender. Com dificuldade, ainda segurando a bolsa, subiu no assento. Hesitou ao ver os cacos de vidro pontiagudos ao redor do batente da janela, mas seu casaco era grosso e ela pareceu decidir que um corte era melhor do que morrer sufocada. Pôs um dos pés no batente. George passou a mão por dentro da janela, segurou-a pelo braço e puxou. Ela rasgou o casaco, mas não se machucou, e ele a ajudou a ficar em pé. Ela se afastou cambaleando e pedindo água. – Temos que sair de perto do ônibus! – gritou ele para Maria. – O tanque de combustível pode explodir! Maria, porém, convulsionada pela tosse, parecia incapaz de se mover. Ele passou um braço em volta de suas costas, pôs outro debaixo de seus joelhos e a pegou no colo. Carregoua até a mercearia e a recolocou no chão quando julgou que estivessem a uma distância segura. Ao olhar para trás, viu que o ônibus agora se esvaziava depressa. A porta enfim tinha sido aberta, e as pessoas desciam cambaleando e pulavam pelas janelas. As labaredas ficaram mais altas. Depois de os últimos passageiros saírem, o interior do ônibus virou uma fornalha. George ouviu um homem gritar alguma coisa sobre o tanque de combustível, e a multidão repetiu o grito e pôs-se a entoar: – Vai explodir! Vai explodir! Assustados, todos se espalharam para se afastar ainda mais. Foi então que se ouviu um baque grave e, com um súbito jorro de chamas, uma explosão sacudiu o ônibus. George tinha quase certeza de que não havia sobrado ninguém lá dentro, e pensou: pelo menos ninguém morreu... ainda. A detonação pareceu saciar a fome de violência da turba. Os homens ficaram em volta do ônibus vendo-o queimar. Um pequeno grupo do que pareciam ser moradores locais havia se reunido em frente à
mercearia, muitos para instigar a multidão; mas então uma menina saiu lá de dentro com um balde d’água e alguns copos de plástico. Deu um pouco d’água para a Sra. Jones e então foi até Maria, que bebeu um copo agradecida e logo pediu outro. Um rapaz branco se aproximou com ar preocupado. Tinha uma cara de fuinha, testa e queixo recuados, nariz adunco e dentes saltados, e seus cabelos castanhos arruivados estavam lambidos para trás com brilhantina. – Como está, querida? – perguntou a Maria. Só que ele estava escondendo alguma coisa e, quando ela começou a responder, ergueu um pé de cabra bem alto e o baixou, mirando no alto de sua cabeça. George esticou um dos braços para protegê-la e o pé de cabra atingiu com força seu antebraço esquerdo. A dor foi lancinante, e ele gritou. O rapaz tornou a erguer a arma. Apesar da dor no braço, George se projetou para a frente, impelindo o corpo a partir do ombro direito, e trombou no rapaz com tanta força que o fez voar. Tornou a se virar para Maria e viu mais três integrantes da turba correndo na sua direção, obviamente decididos a vingar o amigo com cara de fuinha. George se precipitara ao julgar que os segregacionistas tivessem saciado sua sede de violência. Estava acostumado a brigar. Ainda no curso básico da universidade, fizera parte da equipe de luta livre de Harvard, depois havia treinado a equipe enquanto se formava em Direito. Aquilo ali, porém, não seria uma luta justa, com regras. E ele só estava em condições de usar um dos braços. Por outro lado, tinha feito o ensino médio em uma favela de Washington e sabia muito bem brigar sujo. Como os homens vinham na sua direção ombro a ombro, ele se moveu de lado. Isso não apenas os afastou de Maria como os obrigou a se virar, de modo que agora não formavam mais uma fila só. O primeiro deles o golpeou selvagemente com uma corrente de ferro. George se esquivou para trás e a corrente não o atingiu. O impulso do golpe desequilibrou o sujeito. Quando ele cambaleou, George lhe deu uma rasteira e o derrubou no chão. Ele soltou a corrente. O segundo homem caiu cambaleando por cima do primeiro. George deu um passo à frente, virou as costas e o acertou na cara com o cotovelo direito, torcendo para deslocar sua mandíbula. O homem soltou um grito engasgado e caiu, largando o cano de ferro. Subitamente assustado, o terceiro adversário parou. George deu um passo na sua direção e, com toda a força, desferiu-lhe um soco no rosto. Seu punho acertou o sujeito bem no nariz. O osso se partiu, o sangue jorrou e o homem soltou um grito de dor. Foi o soco que proporcionou mais satisfação a George em toda sua vida. Gandhi que se dane, pensou. Dois tiros ecoaram. Todos pararam o que estavam fazendo e olharam na direção do barulho. Um dos policiais rodoviários uniformizados tinha um revólver erguido no ar. – Muito bem, rapazes, vocês já se divertiram – falou. – Vamos dispersar.
George ficou furioso. Diversão? O policial havia testemunhado uma tentativa de assassinato e chamava aquilo de diversão? Estava começando a ver que, no Alabama, um uniforme da polícia não significava muita coisa. A turba voltou a seus carros. George reparou, zangado, que nenhum dos quatro policiais se deu ao trabalho de anotar qualquer placa. Tampouco anotaram nenhum nome, embora com certeza devessem conhecer todos aqueles homens. Joseph Hugo tinha sumido. Uma nova explosão sacudiu a carcaça do ônibus e George imaginou que devia haver um segundo tanque, mas àquela altura ninguém mais estava perto o bastante para correr perigo. Depois disso, o fogo pareceu se extinguir sozinho. Várias pessoas deitadas pelo chão ainda arquejavam tentando respirar depois de terem aspirado a fumaça. Outras sangravam de vários ferimentos. Alguns eram Viajantes, outros, passageiros normais, negros e brancos. O próprio George segurava o braço esquerdo com a mão direita junto à lateral do corpo, tentando mantê-lo imóvel, pois qualquer movimento lhe provocava uma dor excruciante. Os quatro homens com os quais ele havia brigado ajudavam uns aos outros a mancar de volta até seus carros. Ele conseguiu andar até os policiais. – Precisamos de uma ambulância – falou. – Talvez duas. O mais jovem dos agentes o encarou, irado. – O que foi que você disse? – Essas pessoas precisam de cuidados médicos – explicou George. – Chamem uma ambulância! O homem parecia furioso e George se deu conta de que cometera o erro de dar uma ordem a um homem branco. O policial mais velho, porém, disse ao colega: – Deixe, deixe. – Virou-se então para George. – A ambulância está a caminho, rapaz. Minutos depois, uma ambulância do tamanho de um pequeno ônibus chegou, e os Viajantes começaram a ajudar uns aos outros a embarcar. Quando George e Maria se aproximaram, porém, o motorista falou: – Vocês não. George o encarou, incrédulo. – Como assim? – Esta ambulância é para brancos – disse o motorista. – Não para crioulos. – De jeito nenhum. – Não me desafie, rapaz. Um Viajante branco que já havia subido tornou a descer. – O senhor tem que levar todo mundo para o hospital. Negros e brancos. – Esta ambulância não é para crioulos – repetiu o motorista, teimoso. – Bom, sem nossos amigos nós não vamos. E os Viajantes começaram a descer da ambulância, um a um.
O motorista não soube o que fazer. Ficaria com cara de bobo se voltasse de lá sem pacientes, imaginou George. O policial mais velho se aproximou e disse: – É melhor você levá-los, Roy. – Se você está dizendo... – retrucou o motorista. George e Maria embarcaram na ambulância. Enquanto se afastavam, ele tornou a olhar para o ônibus. Não havia sobrado nada exceto uma coluna de fumaça e uma carcaça carbonizada, com a fileira de escoras enegrecidas que sustentavam o teto a se destacar feito as costelas de um mártir queimado na fogueira.
CAPÍTULO CINCO
Tanya Dvorkin saiu de Yakutsk, na Sibéria – a cidade mais fria do mundo – depois de tomar o desjejum bem cedo. Voou até Moscou, a pouco menos de dois mil quilômetros de distância, a bordo de um Tupolev Tu-16 da Força Aérea do Exército Vermelho. A cabine havia sido projetada para meia dúzia de militares, e o responsável não perdera tempo pensando em seu conforto: os assentos eram feitos de alumínio perfurado e não havia tratamento acústico. A viagem levou oito horas, com uma parada para reabastecer. Como em Moscou eram seis horas a menos do que em Yakutsk, Tanya chegou a tempo para um segundo café da manhã. Era verão na capital, e ela teve de carregar o pesado sobretudo e o chapéu de pele. Pegou um táxi até a Casa do Governo, o prédio reservado à elite moscovita privilegiada onde dividia um apartamento com a mãe, Anya, e o irmão gêmeo, Dmitri, que todos chamavam de Dimka. Era uma unidade espaçosa, com três dormitórios, embora sua mãe dissesse que só era grande pelos padrões soviéticos: o apartamento em Berlim no qual ela havia morado na infância, quando seu avô Grigori era diplomata, era bem mais espaçoso. Nessa manhã, o apartamento estava silencioso e vazio: tanto sua mãe quanto Dimka já tinham saído para o trabalho. Seus sobretudos estavam pendurados no hall de entrada em ganchos pregados ali 25 anos antes pelo pai de Tanya: o impermeável preto de Dimka e o tweed marrom de Anya, deixados em casa por causa do calor. Tanya pendurou o próprio sobretudo junto aos outros e levou a mala até seu quarto. Não esperava encontrá-los, mas mesmo assim sentiu uma certa tristeza pelo fato de a mãe não estar em casa para preparar seu chá, nem Dimka para escutar suas aventuras na Sibéria. Pensou em ir visitar os avós, Grigori e Katerina Peshkov, que moravam em outro andar do mesmo prédio, mas acabou decidindo que não daria tempo. Tomou uma ducha, trocou de roupa e pegou um ônibus até a sede da TASS, a agência de notícias soviética. Tanya era uma entre os mais de mil jornalistas que trabalhavam para a agência, mas poucos andavam de jato militar. Ela era uma estrela em ascensão e conseguia produzir matérias atraentes e interessantes que agradavam aos jovens sem deixar de respeitar as diretrizes do partido. Esse talento às vezes trazia desvantagens: ela muitas vezes recebia missões difíceis e importantes. Na cantina da agência, comeu uma tigela de trigo sarraceno tostado com coalhada e foi até a editoria de matérias especiais em que trabalhava. Embora fosse uma estrela, não merecia uma sala só sua. Cumprimentou os colegas, sentou-se diante de sua mesa, inseriu papel e papel-carbono na máquina e começou a escrever. A turbulência do voo a impedira até de tomar notas, mas ela já havia planejado as matérias em sua cabeça e conseguiu escrever de forma fluente, consultando o bloquinho de vez em quando para conferir detalhes. A pauta era incentivar famílias soviéticas a se mudarem para a
Sibéria e trabalhar nas indústrias em ascensão da mineração e da extração do petróleo, uma tarefa nada fácil. Os campos de prisioneiros forneciam bastante mão de obra não especializada, mas a região precisava de geólogos, engenheiros, agrônomos, arquitetos, químicos e gerentes. Tanya, entretanto, ignorou os homens e escreveu sobre suas esposas. Começou com uma jovem e atraente mãe chamada Klara, que falara com animação e bom humor sobre a vida em temperaturas abaixo de zero. No meio da manhã, Daniil Antonov, editor de Tanya, pegou as folhas na bandeja da moça e começou a ler. Era um homem miúdo, de modos afáveis pouco frequentes no universo jornalístico. – Está ótimo – falou, dali a algum tempo. – Quando pode me entregar o resto? – Estou datilografando o mais rápido que consigo. Ele continuou junto à sua mesa. – Você ouviu alguma coisa sobre Ustin Bodian lá na Sibéria? Bodian era um cantor de ópera que fora pego contrabandeando dois exemplares de Doutor Jivago comprados durante uma apresentação na Itália. Estava agora em um campo de trabalhos forçados. O coração de Tanya acelerou de culpa. Será que Daniil estava desconfiado? Para um homem, ele era especialmente intuitivo. – Não – mentiu. – Por quê? Você ouviu? – Nada. – Ele voltou para sua mesa. Tanya já tinha quase terminado a terceira matéria quando Pyotr Opotkin parou junto à sua mesa e começou a ler seus textos com um cigarro pendurado na boca. Atarracado e de pele maltratada, ele era o editor-chefe de matérias especiais. Ao contrário de Daniil, não era jornalista formado, mas sim comissário, um cargo político. Seu trabalho era garantir que as matérias não violassem as diretrizes do Kremlin, e sua única qualificação para o emprego era uma rígida ortodoxia. Ele leu as primeiras páginas do texto de Tanya e disse: – Já falei para não escrever sobre o clima. Opotkin vinha de uma aldeia ao norte de Moscou e ainda falava com sotaque. Tanya suspirou. – Pyotr, a série é sobre a Sibéria. As pessoas já sabem que faz frio lá. Ninguém se deixaria enganar. – Mas este texto é só sobre o clima. – O texto é sobre como uma habilidosa jovem moscovita está criando os filhos em condições desafiadoras... e vivendo uma grande aventura. Daniil entrou na conversa. – Ela tem razão, Pyotr. Se não mencionarmos o frio, as pessoas vão saber que a matéria é uma porcaria e não vão acreditar em uma palavra sequer. – Não gostei – insistiu Opotkin, teimoso.
– Você precisa admitir que Tanya faz a vida lá parecer empolgante. Opotkin assumiu um ar pensativo. – Talvez vocês tenham razão. – Ele tornou a largar as folhas dentro da bandeja. – Vou dar uma festa na minha casa no sábado à noite – falou então para Tanya. – Minha filha se formou na faculdade. Estava pensando se você e seu irmão não gostariam de ir. Opotkin era um alpinista social malsucedido que dava festas insuportavelmente chatas. Tanya sabia que podia responder pelo irmão. – Eu adoraria, e tenho certeza de que Dimka também, mas é aniversário da nossa mãe. Sinto muito. Opotkin fez cara de ofendido. – Que pena – falou e afastou-se. Quando ele saiu do raio de alcance de suas vozes, Daniil perguntou: – Não é aniversário da sua mãe, é? – Não. – Ele vai verificar. – E aí vai entender que dei uma desculpa educada porque não queria ir. – Você deveria ir às festas dele. Tanya não queria ter aquela conversa. Tinha coisas mais importantes com que se preocupar. Precisava escrever suas matérias, sair dali e salvar a vida de Ustin Bodian. Mas Daniil era um bom chefe e tinha ideias liberais, por isso ela reprimiu a impaciência. – Pyotr não liga a mínima se eu for ou não à festa dele – falou. – É meu irmão que ele quer, porque Dimka trabalha para Kruschev. Estava acostumada com pessoas que tentavam se aproximar dela por causa de sua família influente. Seu falecido pai era coronel da KGB, a polícia secreta, e seu tio Volodya era general da Inteligência do Exército Vermelho. Daniil tinha uma insistência típica de jornalista. – Pyotr cedeu em relação às matérias sobre a Sibéria. Você deveria mostrar que está agradecida. – Eu detesto aquelas festas. Os amigos dele ficam bêbados e mexem com as esposas uns dos outros. – Não quero que ele comece e implicar com você. – Por que ele implicaria comigo? – Você é muito bonita. – Não era uma cantada. Daniil morava com um amigo, e Tanya tinha certeza de que era um daqueles homens que não sentiam atração por mulheres. Seu tom era casual. – Linda, talentosa e o pior de tudo: jovem. Pyotr não vai achar difícil odiar você. Faça uma forcinha para agradá-lo. – Ele se afastou. Tanya se deu conta de que seu editor provavelmente estava certo, mas decidiu pensar no assunto mais tarde e tornou a se concentrar na máquina de escrever. Ao meio-dia, pegou um prato de salada de batatas com arenque em conserva na cantina e
comeu à escrivaninha mesmo. Pouco depois, terminou a terceira matéria. Entregou as folhas a Daniil. – Vou para casa dormir – falou. – Por favor, não me ligue. – Bom trabalho – disse ele. – Durma bem. Ela guardou seu bloco de anotações na bolsa a tiracolo e saiu da agência. Agora precisava se certificar de que ninguém a seguia. Estava cansada, e isso a deixava propensa a cometer erros tolos. Sentia-se preocupada. Passou pelo ponto de ônibus, andou vários quarteirões até o ponto anterior e pegou o coletivo ali. Não fazia sentido, portanto qualquer pessoa que fizesse o mesmo obrigatoriamente a estaria seguindo. Mas ninguém a seguiu. Ela saltou perto de um grandioso palácio pré-revolucionário agora transformado em prédio de apartamentos. Deu a volta no quarteirão, mas ninguém parecia estar vigiando o prédio. Ansiosa, deu mais uma volta para ter certeza. Então entrou no hall sombrio e subiu a escadaria de mármore rachado até o apartamento de Vasili Yenkov. Quando estava prestes a enfiar a chave na fechadura, a porta se abriu, e do outro lado surgiu uma loura magra de uns 18 anos. Atrás dela estava Vasili. Tanya praguejou consigo mesma. Era tarde demais para sair correndo ou fingir que estava indo para outro apartamento. A loura a encarou com um olhar duro, avaliador, examinando seu penteado, suas curvas e suas roupas. Então beijou Vasili na boca, tornou a olhar para Tanya com um ar triunfante e desceu a escada. Vasili tinha 30 anos, mas gostava de meninas novas. Elas diziam sim porque ele era alto e atraente, com um belo rosto de traços marcados, fartos cabelos pretos sempre meio compridos demais e um olhar castanho manso e sedutor. Tanya o admirava por motivos totalmente diferentes: ele era inteligente, corajoso e um escritor de categoria mundial. Entrou no escritório dele e largou a bolsa em cima de uma cadeira. Vasili trabalhava fazendo copidesque de roteiros para o rádio e era um homem naturalmente bagunçado: sua escrivaninha estava coberta de papéis e havia livros empilhados pelo chão. No momento, parecia estar trabalhando em uma adaptação para o rádio da primeira peça de Maxim Gorki, Os filisteus. Sua gata cinza, Mademoiselle, dormia em cima do sofá. Tanya a empurrou para poder se sentar. – Quem era aquela vagabunda? – Minha mãe. Apesar de irritada, Tanya riu. – Sinto muito por ela estar aqui – disse Vasili, embora não parecesse muito triste. – Você sabia que eu viria hoje. – Pensei que fosse mais tarde. – Ela viu meu rosto. Ninguém deveria saber que existe uma ligação entre nós. – Ela trabalha na loja de departamentos GUM. Chama-se Varvara. Não vai desconfiar de
nada. – Vasili, por favor, não deixe isso acontecer de novo. O que estamos fazendo já é perigoso o suficiente. Não deveríamos correr mais riscos. Você pode trepar com uma adolescente em qualquer dia. – Tem razão, e não vai acontecer de novo. Deixe-me lhe preparar um chá. Você parece cansada. – Vasili começou a mexer no samovar. – Estou cansada, sim. Mas Ustin Bodian está morrendo. – Que droga. De quê? – Pneumonia. Tanya não conhecia Bodian pessoalmente, mas o havia entrevistado antes de ele ter problemas. Além do talento extraordinário, ele era um homem bom e generoso. Artista soviético admirado no mundo inteiro, tivera uma vida de grande privilégio, mas ainda era capaz de se zangar publicamente por causa de injustiças cometidas com pessoas menos afortunadas do que ele – e por isso fora mandado para a Sibéria. – Eles ainda o estão obrigando a trabalhar? – perguntou Vasili. Tanya fez que não com a cabeça. – Ele já não consegue. Mas não querem mandá-lo para um hospital. Ele passa o dia inteiro deitado na cama e sua saúde está cada vez pior. – Você o viu? – Caramba, não. Perguntar sobre ele já foi perigoso demais. Se eu tivesse ido ao campo de prisioneiros, eles teriam me feito ficar lá. Vasili lhe passou o chá e o açúcar. – Ele está recebendo algum tratamento médico? – Não. – E deu para ter alguma noção de quanto tempo ele ainda pode ter? Tanya negou com a cabeça. – Você agora sabe tanto quanto eu. – Temos que espalhar essa notícia. Ela concordou. – O único jeito de salvar a vida dele é divulgar a doença e torcer para o governo ter a dignidade de ficar envergonhado. – Vamos lançar uma edição especial? – Sim – falou Tanya. – Hoje mesmo. Os dois publicavam uma folha de notícias ilegal chamada Dissidência. Escreviam sobre censura, passeatas, julgamentos e prisioneiros políticos. Em sua sala na Rádio Moscou, Vasili tinha seu próprio mimeógrafo, em geral usado para copiar roteiros. Lá imprimia em segredo cinquenta exemplares de cada edição do Dissidência. A maioria das pessoas que recebia o jornal fazia outras cópias em suas máquinas de escrever, ou mesmo à mão, e a circulação se multiplicava. Esse sistema de publicação independente, conhecido em russo como samizdat,
era generalizado: romances inteiros já tinham sido distribuídos assim. – Eu escrevo – disse Tanya. Foi até o armário, de onde tirou uma grande caixa de papelão cheia de ração para gatos, na qual enfiou a mão para pegar uma máquina de escrever escondida. Era a que usavam para datilografar o Dissidência. A datilografia era tão única quanto a caligrafia. Cada máquina tinha suas características próprias. As letras nunca se alinhavam de forma perfeita: algumas ficavam meio levantadas, outras, descentralizadas. Outras ainda se desgastavam ou se danificavam de forma singular. Consequentemente, peritos da polícia podiam fazer a correspondência entre uma máquina de escrever e os textos por ela produzidos. Se o Dissidência fosse datilografado na mesma máquina dos roteiros de Vasili, alguém poderia ter percebido, então ele havia roubado uma velha máquina do departamento de programação, que levara para casa e escondera dentro da ração para gatos para que ninguém visse. Uma busca minuciosa poderia encontrá-la, mas no caso de uma busca minuciosa Vasili estaria perdido de qualquer forma. Dentro da caixa havia também folhas do papel encerado especial usado na máquina, que não tinha fita; em vez disso, as letras furavam o papel e o mimeógrafo funcionava fazendo a tinta passar pelos buracos em forma de letra. Tanya escreveu uma notícia sobre Bodian, dizendo que o general Nikita Kruschev seria pessoalmente responsável caso um dos maiores tenores da União Soviética morresse em um campo de prisioneiros. Recapitulou os principais pontos de seu julgamento por atividades antissoviéticas, incluindo sua defesa apaixonada da liberdade artística. Para desviar as suspeitas de si, creditou a informação sobre a doença de Bodian a um fã de ópera imaginário que trabalhava na KGB. Ao terminar, entregou as duas folhas de papel vazado para Vasili. – Está conciso – falou. – A concisão é irmã do talento. Foi Tchekhov quem disse. – Ele leu o texto devagar antes de menear a cabeça com um gesto aprovador. – Vou tirar as cópias lá na rádio. Depois devemos levar os jornais para a praça Maiakovski. Tanya não ficou surpresa, mas estava preocupada. – Será que é seguro? – É claro que não. É um evento cultural não organizado pelo governo. E é por isso que condiz com os nossos objetivos. No início daquele ano, jovens moscovitas tinham começado a se reunir informalmente ao redor da estátua do poeta bolchevique Vladimir Maiakovski. Alguns recitavam poemas em voz alta, atraindo ainda mais gente. Um animado festival de poesia acabara surgindo, e algumas das obras declamadas eram críticas disfarçadas ao governo. Sob Stalin, um fenômeno como esse teria durado dez minutos, mas Kruschev era um reformista. Seu programa incluía um grau limitado de tolerância cultural, e até agora nenhuma ação tinha sido tomada contra as leituras de poesia. Mas a liberalização avançava ao ritmo de
dois passos para a frente e um para trás. Segundo o irmão de Tanya, dependia se Kruschev estava indo bem ou se sentindo politicamente forte, ou então enfrentando revezes e temendo um golpe de seus inimigos conservadores dentro do Kremlin. Fosse qual fosse o motivo, não havia como prever o que as autoridades fariam. Tanya estava cansada demais para pensar no assunto, e calculou que qualquer local alternativo seria igualmente perigoso. – Enquanto você vai à rádio, eu vou dormir. Ela entrou no quarto. Os lençóis estavam amarfanhados; imaginou que Vasili e Varvara tivessem passado a manhã na cama. Cobriu tudo com a colcha, tirou as botas e se deitou. Apesar do corpo cansado, sua mente não sossegava. Apesar do medo, ela queria ir à praça Maiakovski. Mesmo com a produção amadora e a circulação limitada, o Dissidência era uma publicação importante. Sua existência demonstrava que o governo comunista não era todopoderoso e que os dissidentes não estavam sozinhos. Líderes religiosos que lutavam contra perseguições liam nele matérias sobre cantores populares presos por canções de protesto e vice-versa. Em vez de se sentir uma voz isolada em uma sociedade monolítica, o dissidente percebia ser parte de uma grande rede, formada por milhares de pessoas que desejavam um governo diferente e melhor. E o Dissidência agora poderia salvar a vida de Ustin Bodian. Por fim, Tanya adormeceu. Acordou com alguém acariciando seu rosto. Abriu os olhos e viu Vasili deitado ao seu lado. – Vá embora daqui – falou. – A cama é minha. – Eu tenho 22 anos – disse ela, sentando-se. – Sou velha demais para o seu gosto. – Por você eu abriria uma exceção. – Quando eu quiser fazer parte de um harém, aviso. – Por você eu largaria todas as outras. – É mesmo? Caramba! – Sério, largaria mesmo. – Talvez por cinco minutos. – Para sempre. – Se largar por seis meses, eu penso no seu caso. – Seis meses? – Está vendo? Se não consegue ser casto nem por meio ano, como pode prometer a eternidade? Que horas são, afinal? – Você dormiu a tarde inteira. Não levante. Eu tiro a roupa e deito junto com você. Tanya se levantou. – Temos de ir agora. Vasili desistiu. Provavelmente não estava falando sério. Sentia-se obrigado a cantar todas
as mulheres. Depois de fazer isso automaticamente, iria esquecer o assunto, pelo menos por algum tempo. Entregou a Tanya um maço com cerca de 25 folhas de papel impressas dos dois lados com letras levemente borradas: as cópias da nova edição do Dissidência. Apesar do bom tempo, enrolou um cachecol de algodão vermelho no pescoço. O acessório lhe dava um ar de artista. – Então vamos – falou. Tanya o fez esperar enquanto ia ao banheiro. O rosto no espelho a fitou com um penetrante olhar azul emoldurado por cabelos louro-claros bem curtos. Pôs óculos escuros para esconder os olhos e cobriu os cabelos com um lenço marrom sem nada de especial. Agora poderia passar por uma moça qualquer. Ignorando Vasili, que, impaciente, batia os pés no chão, foi até a cozinha e se serviu de um copo d’água da torneira. Bebeu-o e então disse: – Estou pronta. Foram a pé até a estação de metrô. O trem estava lotado de trabalhadores voltando para casa. Saltaram na estação Maiakovski, situada na via perimetral que margeava o centro da cidade. Não ficariam muito tempo ali: assim que tivessem distribuído os cinquenta novos exemplares, iriam embora. – Se houver algum problema, não se esqueça: nós não nos conhecemos – disse Vasili. Os dois se separaram e emergiram da estação com um minuto de diferença. O sol havia baixado, e o dia de verão já esfriava. Além de bolchevique, Vladimir Maiakovski tinha sido um poeta de envergadura internacional, e a União Soviética se orgulhava dele. Sua heroica estátua de 7 metros de altura ocupava o centro da praça batizada em sua homenagem. Reunidas no gramado estavam várias centenas de pessoas, a maioria jovem e algumas vestidas de modo vagamente ocidental, com jeans e suéteres de gola rulê. Um rapaz de boné vendia o romance de sua autoria, páginas reproduzidas em papel carbono perfuradas com furadeira e amarradas com barbante. Chamava-se Crescer ao contrário. Uma moça de cabelos compridos segurava um violão, mas sem fazer menção de tocar; talvez fosse um acessório, como uma bolsa. Um único policial uniformizado patrulhava a praça, mas os agentes da polícia secreta chegavam a ser risíveis de tão óbvios, com seus casacos de couro para esconder as armas, apesar da temperatura amena. Mesmo assim, Tanya evitou encará-los: eles não eram tão engraçados assim. As pessoas se revezavam para se levantar e recitar um ou dois poemas cada. Eram quase todos homens, mas havia umas poucas mulheres. Um rapaz de sorriso travesso leu versos sobre um fazendeiro desajeitado tentando tocar um bando de gansos, que a multidão logo percebeu ser uma metáfora do modo como o Partido Comunista organizava o país. Em pouco tempo estavam todos morrendo de rir, exceto os agentes da KGB, que exibiam um ar de incompreensão. Enquanto ouvia sem prestar muita atenção um poema sobre angústia adolescente no mesmo estilo futurista de Maiakovski, Tanya foi percorrendo a multidão sem se fazer notar ao mesmo
tempo que sacava as folhas de papel do bolso, uma de cada vez, e as entregava discretamente para qualquer um com uma cara amigável. Mantinha sempre um olho em Vasili, que fazia a mesma coisa. Não demorou a escutar exclamações de choque e preocupação quando as pessoas começaram a falar em Bodian: em um grupo como aquele, a maioria o conhecia e sabia por que estava preso. Ela seguiu distribuindo as folhas o mais depressa que podia, ansiosa para se livrar de todas antes que a polícia percebesse o que estava acontecendo. Um homem de cabelos curtos que parecia um ex-soldado ficou em pé na frente dos outros e, em vez de recitar um poema, começou a ler o texto de Tanya sobre Bodian. Ela ficou satisfeita: a notícia estava se espalhando ainda mais depressa do que ela previra. Quando o rapaz chegou ao trecho que contava que Bodian não estava recebendo tratamento médico, ouviram-se gritos indignados. Os homens de casaco de couro, porém, perceberam a mudança no ambiente e ficaram mais alertas. Ela viu um deles falar algo com urgência em um walkietalkie. Ainda faltava distribuir cinco exemplares, que pareciam abrir um rombo em seu bolso. Os agentes da polícia secreta, antes à margem do grupo, começaram a se aproximar e a convergir para cima do rapaz que lia. Ele acenou desafiadoramente com seu exemplar do Dissidência e gritou palavras sobre Bodian enquanto os agentes se aproximavam. Algumas pessoas se aglomeraram em volta do tablado para dificultar a aproximação da polícia. Em resposta, os agentes da KGB ficaram mais truculentos e começaram a empurrar as pessoas para abrir caminho. Era assim que começavam os tumultos. Nervosa, Tanya se afastou em direção à margem da multidão. Sobrara-lhe um exemplar do Dissidência, que ela jogou no chão. De repente, meia dúzia de policiais uniformizados apareceu. Perguntando-se temerosa de onde poderiam ter surgido, Tanya olhou para o edifício mais próximo, do outro lado da rua, e viu outros policiais saindo pela porta: deviam estar escondidos lá dentro, à espera, caso fosse necessário intervir. Sacaram os cassetetes e foram abrindo caminho pela multidão, golpeando as pessoas indiscriminadamente. Tanya viu Vasili se virar e se afastar caminhando o mais rápido possível entre as pessoas, e fez o mesmo. Então uma adolescente em pânico trombou nela e a derrubou no chão. Tanya ficou atordoada por alguns instantes. Quando sua visão clareou, viu mais pessoas correndo. Ajoelhou-se, mas ainda estava tonta. Alguém tropeçou nela e tornou a derrubá-la. Então, de repente, Vasili apareceu e a segurou com as duas mãos para pô-la de pé. Ela teve um segundo de surpresa: não esperava que ele fosse arriscar a própria segurança para ajudála. Um policial então golpeou Vasili na cabeça com um cassetete e o derrubou. Ajoelhando-se, puxou seus braços até as costas e o algemou com movimentos rápidos e experientes. Vasili ergueu o rosto, cruzou olhares com Tanya e, sem produzir nenhum som, articulou a palavra “corra”. Ela se virou e saiu em disparada, mas um segundo depois colidiu com um policial
uniformizado que a segurou pelo braço. Tentou se desvencilhar, aos gritos. – Me solte! Mas o homem apertou com mais força e disse: – Está presa, piranha.
CAPÍTULO SEIS
A Sala Nina Onilova, no Kremlin, fora batizada em homenagem a uma operadora de metralhadora morta durante a Batalha de Sebastopol. Na parede, uma fotografia em preto e branco mostrava um general do Exército Vermelho depositando sobre o túmulo de Nina a medalha da Ordem da Bandeira Vermelha. A imagem encimava uma lareira de mármore branco tão manchada quanto os dedos de um fumante. Por toda a sala, rebuscadas sancas de gesso emolduravam quadrados de tinta mais clara onde outros quadros antes pendiam, sugerindo que as paredes não eram pintadas desde a Revolução. Talvez antigamente aquilo fosse um salão elegante. Agora, a mobília se resumia a umas vinte cadeiras baratas e mesas de cantina reunidas para formar um retângulo comprido. Sobre elas, cinzeiros de cerâmica pareciam ser esvaziados diariamente, mas nunca limpos. Dimka Dvorkin entrou, com a mente em polvorosa e um nó na barriga. A sala era o local em que habitualmente se reuniam os assessores dos ministérios e secretarias que formavam o Presidium do Soviete Supremo, órgão que governava a URSS. Embora fosse assessor de Nikita Kruschev, premiê e presidente do Presidium, Dimka sentia que ali não era o seu lugar. Faltavam poucas semanas para a Cúpula de Viena, o impactante primeiro encontro entre Kruschev e o recém-eleito presidente americano John Kennedy. No dia seguinte, no Presidium mais importante do ano, os líderes da URSS decidiriam a estratégia para a cúpula. Agora, na véspera, os assessores se reuniam para se preparar para o Presidium. Uma reunião de planejamento para outra reunião de planejamento. O representante de Kruschev tinha de apresentar o pensamento do líder de modo que os outros assessores pudessem preparar seus superiores para o dia seguinte. Sua tarefa implícita era desmascarar qualquer oposição latente às ideias do premiê e, se possível, sufocá-la. Era seu dever solene garantir que o debate do dia seguinte corresse sem percalços para o líder. Dimka sabia o que Kruschev pensava sobre a cúpula, mas mesmo assim tinha a sensação de que não seria capaz de lidar com aquela reunião. Era o mais jovem e o menos experiente dos assessores de Kruschev. Fazia apenas um ano que saíra da universidade. Nunca tinha participado de uma reunião pré-Presidium: era novato demais. Dez minutos antes, porém, sua secretária, Vera Pletner, lhe informara que um dos assessores seniores tinha mandado avisar que estava doente e outros dois haviam acabado de ter um acidente de carro, de modo que ele precisava substituí-los. Dois motivos tinham levado o jovem Dimka a conseguir aquele emprego com Kruschev. Um era ter sido o melhor aluno de todos os cursos que fizera, desde o maternal até a universidade. O outro era o fato de seu tio ser general. Ele não sabia qual dos dois fatores fora o mais importante.
Embora projetasse a imagem de um monólito para o mundo exterior, o Kremlin na realidade era um campo de batalha. O poder de Kruschev não era muito sólido. Apesar de comunista no coração e na alma, ele era também um reformista, que via falhas no sistema soviético e queria implementar novas ideias. Mas os velhos stalinistas do Kremlin ainda não estavam derrotados e se mantinham sempre alertas a qualquer oportunidade de enfraquecer Kruschev e fazer retroceder suas reformas. A reunião era informal; assessores tomavam chá e fumavam, sem paletó e com as gravatas afrouxadas – a maioria era do sexo masculino, mas não todos. Dimka viu um rosto amigo: Natalya Smotrov, assessora do ministro das Relações Exteriores, Andrei Gromyko. Com 20 e poucos anos, era uma moça bonita apesar do vestido preto sem graça. Dimka não a conhecia bem, mas tinha falado com ela algumas vezes. Sentou-se ao seu lado. Ela pareceu surpresa em vê-lo. – Konstantinov e Pajari tiveram um acidente de carro – explicou ele. – Eles se machucaram? – Nada grave. – E Alkaev? – Está doente. Cobreiro. – Que nojo. Quer dizer que o representante do líder é você. – Estou apavorado. – Vai dar tudo certo. Ele olhou em volta. Todos pareciam estar esperando alguma coisa. Em voz baixa, perguntou a Natalya: – Quem vai presidir a reunião? Um dos outros o escutou. Era Yevgeny Filipov, que trabalhava para o ministro da Defesa, o conservador Rodion Malinovski. Apesar de ter apenas 30 e poucos anos, vestia-se como um homem bem mais velho, e estava usando um terno folgado do pós-guerra e uma camisa de flanela cinza. Em voz alta, repetiu a pergunta de Dimka com um tom de desprezo: – Quem vai presidir a reunião? Você, claro. Não é você o assessor do presidente do Presidium? Vamos lá, universitário. Dimka sentiu as faces corarem. Por um instante, não soube o que dizer. Então teve uma inspiração e falou: – Graças ao impressionante voo no espaço do major Yury Gagarin, o camarada Kruschev irá a Viena com os parabéns do mundo ecoando em seus ouvidos. No mês anterior, Gagarin tinha se tornado o primeiro homem a viajar para o espaço sideral em um foguete, antecipando-se aos americanos por poucas semanas em um formidável golpe de ciência e propaganda para a União Soviética e para Nikita Kruschev. Os assessores ao redor da mesa bateram palmas, e Dimka começou a se sentir melhor. Então Filipov tornou a falar: – Talvez fosse melhor se o que estivesse ecoando nos ouvidos do primeiro-secretário
fosse o discurso de posse do presidente Kennedy. – Ele parecia incapaz de falar sem um sorriso de escárnio. – Caso os camaradas ao redor da mesa tenham esquecido, Kennedy nos acusou de estar planejando dominar o mundo e jurou nos deter a qualquer custo. Depois de todos os movimentos conciliatórios de nossa parte, insensatos, aliás, na opinião de camaradas experientes, o presidente americano não poderia ter deixado mais claras suas intenções agressivas. – Ele ergueu o braço com um dedo no ar, como um professor. – Só há uma resposta possível para nós: aumentar nossa força militar. Dimka ainda estava pensando no que responder quando Natalya foi mais rápida: – É uma corrida que não podemos ganhar – afirmou ela em um tom prático e profissional. – Os Estados Unidos são mais ricos do que a União Soviética e podem facilmente igualar qualquer incremento em nossas Forças Armadas. A moça tinha mais bom senso do que seu chefe conservador, concluiu Dimka, lançando-lhe um olhar grato e continuando o que ela havia começado: – Daí a política de coexistência pacífica de Kruschev, que nos permite gastar menos com o Exército e em vez disso investir na agricultura e na indústria. Os conservadores do Kremlin odiavam a coexistência pacífica. Para eles, o conflito com o capitalismo-imperialismo era uma guerra de morte. Pelo canto do olho, Dimka viu entrar na sala sua secretária, Vera, uma quarentona inteligente e agitada. Acenou mandando-a embora. Filipov não se deixou vencer tão facilmente. – Não podemos permitir que uma visão ingênua da política mundial nos incentive a reduzir nosso Exército depressa demais – falou com desdém. – Não podemos afirmar que estamos ganhando no cenário internacional. Vejam só como os chineses estão nos desafiando. Isso nos enfraquece em Viena. Por que Filipov estava tentando com tanto afinco fazer Dimka passar por bobo? O rapaz de repente se lembrou de que o outro queria um emprego no gabinete de Kruschev, o emprego que agora era seu. – Assim como a Baía dos Porcos enfraqueceu Kennedy – retrucou. O presidente americano tinha autorizado um plano mirabolante da CIA para invadir Cuba em um lugar chamado Baía dos Porcos, mas o plano dera errado e Kennedy fora humilhado. – Eu acho que a posição do nosso líder é mais forte. – Mesmo assim, Kruschev não conseguiu... Percebendo que estava indo longe demais, Filipov não completou a frase. Aquelas conversas pré-Presidium eram francas, mas havia limites. Dimka aproveitou seu momento de fraqueza. – O que Kruschev não conseguiu fazer, camarada? Por favor, nos explique. Filipov logo se emendou: – Nós não conseguimos alcançar nosso principal objetivo na política externa: uma solução permanente para a situação de Berlim. A Alemanha Oriental é nosso posto avançado na
Europa. Suas fronteiras protegem as da Polônia e da Checoslováquia. Seu status não resolvido é intolerável. – Certo – disse Dimka, e espantou-se com o tom confiante da própria voz. – Eu acho que já basta de falar sobre princípios gerais. Antes de encerrar a reunião, vou explicar o pensamento do primeiro-secretário sobre esse problema. Filipov abriu a boca para protestar contra essa interrupção abrupta, mas Dimka não o deixou prosseguir. – Os camaradas se pronunciarão quando solicitados pela presidência – disse, fazendo questão de impor à voz um tom áspero. Todos se calaram. – Em Viena, Kruschev dirá a Kennedy que não podemos mais esperar. Já fizemos propostas razoáveis para regulamentar a situação de Berlim, e tudo o que os americanos conseguem dizer é que não querem mudanças. – Em volta da mesa, vários participantes assentiram. – Nosso líder vai dizer que, se eles não concordarem com um plano, tomará uma atitude unilateral e, se os americanos tentarem nos deter, revidará à altura. Seguiram-se vários instantes de silêncio. Dimka aproveitou para se levantar. – Obrigado pela presença de todos – falou. Quem disse o que todos estavam pensando foi Natalya: – Isso significa que estamos dispostos a entrar em guerra com os americanos por causa de Berlim? – O primeiro-secretário não acha que vá haver guerra – respondeu Dimka, dando-lhes a mesma resposta evasiva que Kruschev tinha lhe dado. – Kennedy não é louco. Ao sair da sala, viu que Natalya o olhava com surpresa e admiração. Não conseguia acreditar que tinha sido tão firme. Nunca fora covarde, mas aquele era um grupo de homens poderosos e inteligentes, e ele conseguira intimidá-los. Sua posição ajudava: embora fosse jovem, a mesa que ocupava no complexo de salas do premiê lhe conferia poder. Além disso, paradoxalmente, a hostilidade de Filipov tinha ajudado. Todos os presentes podiam entender a necessidade de ter pulso firme com alguém que estivesse tentando prejudicar o líder. Vera o aguardava na antessala. Assistente política experiente, não era de entrar em pânico sem motivo. Dimka teve um lampejo de intuição. – É sobre a minha irmã, não é? Vera ficou assustada. Seus olhos se arregalaram. – Como o senhor faz isso? – indagou, assombrada. Não era nada sobrenatural. Havia algum tempo ele temia que Tanya estivesse prestes a ter problemas. – O que foi que ela fez? – Foi presa. – Ah, droga... Vera apontou para um telefone fora do gancho sobre uma mesa lateral e Dimka o pegou. Sua mãe, Anya, estava na linha.
– Tanya está na Lubyanka! – disse ela, usando o apelido para a sede da KGB na praça Lubyanka. Estava quase histérica. Aquilo não era uma surpresa total para Dimka. Sua irmã gêmea e ele concordavam que havia muitas coisas erradas com a União Soviética, mas, ao passo que ele acreditava na necessidade de uma reforma, ela pensava que o comunismo devia ser abolido. Um desacordo intelectual que não tinha qualquer influência em seu afeto um pelo outro: eles eram melhores amigos e sempre fora assim. Quem pensava como Tanya podia ser preso, e essa era justamente uma das coisas que estavam erradas. – Mãe, calma, vou tirá-la de lá – falou. Torceu para ser capaz de justificar essa firmeza. – Você sabe o que aconteceu? – Um motim em algum encontro de poesia! – Aposto que ela foi à praça Maiakovski. Se for só isso... Ele não sabia tudo em que a irmã se metia, mas desconfiava que fosse pior do que declamar poesia. – Dimka, você precisa fazer alguma coisa! Antes que eles... – Eu sei. Antes que eles começassem a interrogá-la, sua mãe queria dizer. Um calafrio atravessou seu corpo. A perspectiva de ser interrogado nas famosas celas subterrâneas da sede da KGB deixava qualquer cidadão soviético aterrorizado. Seu primeiro instinto fora dizer que daria um telefonema, mas decidiu que isso não bastaria. Precisava ir até lá pessoalmente. Hesitou por um instante: se as pessoas descobrissem que ele fora à Lubyanka libertar a irmã, isso poderia prejudicar sua carreira. Mas esse pensamento não o deteve. Tanya vinha antes dele próprio, de Kruschev e de toda a União Soviética. – Estou a caminho, mãe. Ligue para o tio Volodya e conte o que aconteceu. – Sim, boa ideia! Meu irmão vai saber o que fazer. Dimka desligou. – Ligue para a Lubyanka – pediu a Vera. – Diga claramente que está ligando do gabinete do primeiro-secretário, que está preocupado com a prisão da influente jornalista Tanya Dvorkin. Diga que o assessor do camarada Kruschev está a caminho para saber mais detalhes e que não devem fazer nada antes de ele chegar. A secretária ia anotando. – Quer que eu peça um carro? A praça Lubyanka ficava a um quilômetro e meio do complexo do Kremlin. – Estou com a moto lá embaixo. Vai ser mais rápido. Dimka tinha o privilégio de ser dono de uma motocicleta Voskhod 175 com cinco marchas e escapamento duplo. Sabia que a irmã estava prestes a arrumar problemas porque, paradoxalmente, ela havia
parado de lhe contar tudo, pensou no caminho. Em geral os dois não guardavam segredos um do outro. Dimka tinha uma intimidade com Tanya que não compartilhava com mais ninguém. Quando a mãe não estava e os dois ficavam sozinhos em casa, sua irmã andava pelada pelo apartamento para pegar roupas de baixo limpas na rouparia, e Dimka fazia xixi sem se dar ao trabalho de fechar a porta. Às vezes, seus amigos sugeriam aos risos que aquela intimidade tinha um quê de erotismo, mas a verdade era justamente o contrário: eles só podiam ser tão íntimos porque não havia nenhuma conotação sexual. Ao longo do último ano, entretanto, percebera que Tanya estava lhe escondendo alguma coisa. Não sabia o quê, mas podia adivinhar. Tinha certeza de que não era nenhum namorado: eles contavam um ao outro tudo sobre suas vidas amorosas, comparando detalhes e se consolando. Era quase certo que tivesse a ver com política, pensou. O único motivo que a faria esconder algo do irmão seria protegê-lo. Chegou em frente ao famigerado prédio, um palácio de tijolos amarelos construído antes da Revolução para servir de sede a uma empresa de seguros. Pensar na irmã presa lá dentro lhe deu náuseas. Por alguns segundos, teve medo de que fosse vomitar. Estacionou bem em frente à entrada principal, esperou um pouco até recuperar a compostura e entrou. Daniil Antonov, editor de Tanya, já estava lá e conversava com um agente da KGB no saguão. Era um homem baixo e franzino que Dimka considerava inofensivo, mas estava se mostrando incisivo. – Quero ver Tanya Dvorkin e quero vê-la agora – falou. O agente da KGB ostentava a mesma expressão obstinada de uma mula. – Isso talvez não seja possível. Dimka entrou na conversa. – Sou do gabinete do primeiro-secretário. O agente não se deixou impressionar. – E o que você faz lá, meu filho? Prepara o chá? – disse ele, grosseiro. – Qual é o seu nome? Era uma pergunta intimidadora: as pessoas morriam de medo de dizer seu nome à KGB. – Dmitri Dvorkin, e vim aqui lhe informar que o camarada Kruschev tem um interesse pessoal neste caso. – Vá se foder, Dvorkin – retrucou o sujeito. – O camarada Kruschev não sabe nada sobre este caso. Você veio aqui tirar sua irmã da encrenca. Dimka ficou espantado com a grosseria confiante do agente. Calculou que muita gente que tentava livrar parentes ou amigos de uma prisão pela KGB devia alegar ligações pessoais com gente poderosa. Mesmo assim, fez uma nova tentativa: – Qual é o seu nome? – Capitão Mets. – E do que vocês estão acusando Tanya Dvorkin?
– De agredir um agente. – Uma garota bateu em um dos seus capangas de casaco de couro? – indagou Dimka com sarcasmo. – Ela primeiro deve ter pego a arma dele. Vamos, Mets, deixe de ser babaca. – Ela participou de uma reunião sediciosa. Havia literatura antissoviética circulando. – Ele entregou a Dimka uma folha de papel amassada. – A reunião virou motim. Dimka olhou para o papel intitulado Dissidência. Já tinha ouvido falar naquela folha de notícias subversiva. Era muito fácil Tanya ter algo a ver com aquilo. A edição era sobre o cantor de ópera Ustin Bodian. Dimka foi momentaneamente distraído pela chocante alegação de que Bodian estava morrendo de pneumonia em um campo de trabalho na Sibéria. Então lembrou que Tanya chegara da Sibéria naquele mesmo dia e entendeu que ela devia ter escrito aquilo. Talvez estivesse mesmo em apuros. – Tanya estava com este jornal, segundo o senhor? – perguntou. Viu Mets hesitar e completou: – Pensei mesmo que não. – Ela não deveria estar lá. – Ela é jornalista, seu tolo – interveio Daniil. – Estava observando o evento, assim como os seus agentes. – Ela não é agente. – Todos os jornalistas da TASS cooperam com a KGB, como o senhor bem sabe. – Vocês não podem provar que ela estava lá oficialmente. – Eu posso, sim. Sou o editor dela. Fui eu que a mandei para lá. Seria verdade?, pensou Dimka. Duvidava muito. Ficou grato por Daniil se arriscar tentando defender Tanya. Mets já não se mostrava mais tão confiante. – Ela estava com um homem chamado Vasili Yenkov, que tinha cinco cópias desse papel no bolso. – Ela não conhece ninguém chamado Vasili Yenkov – afirmou Dimka. Podia ser verdade: ele com certeza nunca tinha ouvido aquele nome. – Se era um motim, como vocês podem dizer quem estava com quem? – Vou ter que falar com meus superiores – retrucou Mets, e virou as costas. Dimka forçou a voz a sair dura. – Não demore – bradou. – A próxima pessoa do Kremlin que o senhor vir talvez não seja o garoto que prepara o chá. Mets desceu uma escada. Dimka estremeceu: todos sabiam que as salas de interrogatório ficavam no porão. Instantes depois, um homem mais velho com um cigarro pendurado no canto da boca foi se juntar a Dimka e Daniil no saguão. Tinha um rosto feio, flácido, com um queixo agressivamente protuberante. Daniil não pareceu contente ao vê-lo. Apresentou-o como Pyotr Opotkin, o editor-chefe de matérias especiais. Opotkin encarou Dimka com olhos semicerrados para se proteger da fumaça.
– Quer dizer que sua irmã foi presa em um encontro de protesto – falou. Apesar do tom zangado, Dimka sentiu que, no fundo, Opotkin estava satisfeito por algum motivo. – Uma leitura de poesia – corrigiu. – Não faz muita diferença. – Fui eu que a mandei lá – interveio Daniil. – No dia em que ela voltou da Sibéria? – perguntou Opotkin, cético. – Na verdade não era um trabalho. Sugeri que ela passasse lá para ver o que estava acontecendo, só isso. – Não minta para mim – disse Opotkin. – Você só está tentando protegê-la. Daniil ergueu o queixo e lançou-lhe um olhar desafiador. – E não foi isso que você veio fazer aqui? Antes de Opotkin conseguir responder, o capitão Mets voltou. – O caso ainda está sendo examinado – informou. Opotkin se apresentou e mostrou a Mets seu documento de identidade. – A questão não é se Tanya Dvorkin deve ser punida, mas como – falou. – Exato – respondeu Mets, deferente. – Gostaria de me acompanhar? Opotkin assentiu, e o capitão o conduziu escada abaixo. – Ele não vai deixar que ela seja torturada, vai? – indagou Dimka em voz baixa. – Opotkin já estava zangado com Tanya – disse Daniil, preocupado. – Por quê? Pensei que ela fosse uma boa jornalista. – Ela é brilhante. Mas recusou o convite para uma festa na casa dele no sábado. Ele queria que você fosse também. Pyotr adora gente importante. Ser esnobado o magoa muito. – Ai, merda. – Eu disse a ela que deveria ter aceitado. – Você a mandou mesmo à praça Maiakovski? – Não. Nós nunca poderíamos dar uma matéria sobre uma reunião tão extraoficial. – Obrigado por tentar protegê-la. – É uma honra... mas não acho que esteja dando certo. – O que acha que vai acontecer? – Ela pode ser demitida. Mais provavelmente será transferida para algum lugar desagradável, como o Cazaquistão. – Daniil franziu a testa. – Preciso pensar em algum acordo que satisfaça Opotkin, mas não seja duro demais para Tanya. Ao olhar para a porta de entrada, Dimka viu um homem de 40 e poucos anos com os cabelos bem curtos, à moda militar, e vestido com o uniforme de general do Exército Vermelho. – Tio Volodya, até que enfim – falou. Volodya Peshkov tinha o mesmo olhar azul penetrante da sobrinha. – Que porra está acontecendo aqui? – perguntou ele, irado. Dimka lhe contou. Quando estava terminando, Opotkin reapareceu. Dirigiu-se a Volodya
em tom obsequioso: – General, eu debati esse problema da sua sobrinha com nossos amigos da KGB, e eles disseram que vão se contentar se eu tratar a situação como uma questão interna da TASS. Dimka sentiu o corpo relaxar de alívio. Então pensou se a estratégia de Opotkin teria sido manipular a situação para se colocar na posição de quem estaria fazendo um favor a Volodya. – Permita-me fazer uma sugestão – disse o general. – O senhor poderia assinalar o incidente como sério, sem atribuir culpa a ninguém, simplesmente transferindo Tanya para outro cargo. Era a mesma punição que Daniil mencionara segundos antes. Opotkin assentiu, pensativo, como quem reflete sobre o assunto, mas Dimka tinha certeza de que ele concordaria de bom grado com qualquer “sugestão” do general Peshkov. – Quem sabe um posto no exterior? – indagou Daniil. – Ela fala alemão e inglês. Dimka sabia que isso era um exagero: Tanya tinha estudado os dois idiomas na escola, de fato, mas isso não era a mesma coisa que ser fluente. Daniil estava tentando impedir que sua irmã fosse banida para alguma região remota da URSS. – E ela poderia continuar escrevendo matérias para o meu departamento – prosseguiu o editor. – Eu preferiria não perdê-la para a editoria de notícias... ela é boa demais. Opotkin parecia em dúvida. – Não podemos mandá-la para Londres ou Bonn. Isso iria parecer uma recompensa. Era verdade. Missões em países capitalistas eram disputadas. As ajudas de custo eram colossais e, ainda que não comprassem tantas coisas quanto na URSS, mesmo assim os cidadãos soviéticos viviam muito melhor no Ocidente do que no seu país. – Berlim Oriental, talvez, ou quem sabe Varsóvia? – sugeriu Volodya. Opotkin assentiu. Ser transferida para outro país comunista era mais parecido com uma punição. – Fico feliz que tenhamos conseguido resolver a questão – disse Volodya. – Vou dar uma festa no sábado à noite – disse Opotkin para Dimka. – Quem sabe você gostaria de ir? Dimka imaginou que isso selaria o acordo. Fez que sim com a cabeça. – Tanya me disse – falou, fingindo animação. – Iremos os dois. Obrigado. Opotkin ficou radiante. – Por acaso sei de uma vaga em um país comunista disponível agora mesmo – disse Daniil. – Precisamos de alguém lá com urgência. Ela poderia viajar amanhã. – Onde? – perguntou Dimka. – Em Cuba. – Pode ser uma solução aceitável – disse Opotkin, agora animado. Com certeza era melhor do que o Cazaquistão, pensou Dimka. Mets reapareceu no saguão acompanhado por Tanya. Dimka sentiu o coração dar um pinote: sua irmã estava pálida e assustada, mas não parecia ferida. Mets falou com um misto
de deferência e desafio, como um cão que ladra por estar assustado: – Permitam-me sugerir que a jovem Tanya mantenha distância de leituras de poesia no futuro. Apesar de parecer prestes a esganar aquele idiota, Volodya ostentou um sorriso. – Ótimo conselho, tenho certeza. Todos saíram. A noite havia caído. – Estou de moto, posso levá-la para casa – disse Dimka. – Sim, por favor – respondeu ela. Obviamente queria conversar com o irmão. – Deixe que eu a levo no meu carro... você parece abalada demais para andar de moto – sugeriu Volodya, que não sabia ler tão bem a mente da sobrinha. Para sua surpresa, Tanya falou: – Obrigada, tio, mas prefiro ir com Dimka. Volodya deu de ombros e entrou em uma limusine Zil que o aguardava. Daniil e Pyotr se despediram. Assim que os dois se viram fora do alcance de ouvidos alheios, Tanya se virou para Dimka com uma expressão desatinada. – Eles disseram alguma coisa sobre Vasili Yenkov? – Sim, que você estava com ele. É verdade? – É. – Ai, merda. Mas ele não é seu namorado, é? – Não. Você sabe o que aconteceu com ele? – Ele estava com cinco exemplares do Dissidência no bolso, portanto não vai sair da Lubyanka tão cedo, mesmo que tenha amigos em altos cargos. – Caramba! Acha que eles vão investigá-lo? – Com certeza. Vão querer saber se ele só distribui o Dissidência ou se na verdade o produz, o que seria bem mais sério. – Vão revistar o apartamento dele? – Seria uma omissão não fazê-lo. Por quê? O que vão encontrar lá? Ela olhou em volta, mas não havia ninguém por perto. Mesmo assim, baixou a voz: – A máquina de escrever na qual o Dissidência é datilografado. – Então fico feliz por Vasili não ser seu namorado, porque ele vai passar os próximos 25 anos na Sibéria. – Não diga isso! Dimka franziu a testa. – Você não está apaixonada por ele, dá para ver... mas tampouco lhe é totalmente indiferente. – Olhe aqui, Vasili é um homem corajoso e um poeta incrível, mas o nosso relacionamento não é romântico. Eu nunca sequer o beijei. Ele é um daqueles homens que precisam ter várias
mulheres diferentes. – Igual ao meu amigo Valentin. Valentin Lebedev, seu colega de quarto na universidade, tinha sido um verdadeiro Don Juan. – Isso, exatamente igual ao Valentin. – Então... que importância tem para você se eles vasculharem o apartamento de Vasili e encontrarem a máquina de escrever? – Muita. Nós produzíamos o Dissidência juntos. Fui eu que escrevi a edição de hoje. – Que merda. Era isso que eu temia. Agora Dimka sabia que segredo a irmã vinha escondendo dele no último ano. – Temos que ir ao apartamento dele agora mesmo, pegar a máquina e dar um fim nela. Dimka deu um passo para longe da irmã. – De jeito nenhum. Pode esquecer. – Mas é preciso! – Não. Eu correria qualquer risco por você, e talvez corresse um risco grande por alguém que você amasse, mas não vou arriscar meu pescoço por esse cara. Nós todos podemos ir parar na porra da Sibéria! – Então eu vou sozinha. Tentando avaliar todos os riscos, Dimka tornou a franzir a testa. – Quem mais sabe sobre você e Vasili? – Ninguém. Nós tomamos cuidado. Eu me certifiquei de não ser seguida toda vez que fui à casa dele. Nunca nos encontramos em público. – Quer dizer que a investigação da KGB não vai ligar você a ele. Ela hesitou, e foi nesse momento que Dimka entendeu que eles estavam em sérios apuros. – O que foi? – perguntou. – Depende de quão criteriosos forem os homens da KGB. – Por quê? – Hoje de manhã, quando fui ao apartamento de Vasili, tinha uma garota lá... Varvara. – Ai, caralho... – Ela estava de saída. Não sabe o meu nome. – Mas, se a KGB lhe mostrar fotos das pessoas presas na praça Maiakovski, ela pode conseguir identificar você? Tanya pareceu amedrontada. – Ela me olhou de cima a baixo, bem devagar, imaginando que eu pudesse ser uma rival. Sim, poderia reconhecer meu rosto. – Ai, meu Deus, então nós precisamos pegar a tal máquina. Sem ela, eles vão pensar que Vasili não passa de um distribuidor do Dissidência, então provavelmente não devem tentar encontrar todas as suas namoradas casuais, ainda mais porque parece haver muitas. Talvez você consiga escapar. Mas, se eles acharem a máquina, você está perdida.
– Eu vou sozinha. Tem razão, não posso fazer você correr todo esse perigo. – Mas eu não posso deixar você correr todo esse perigo sozinha – retrucou ele. – Qual é o endereço? Ela lhe disse. – Não fica muito longe daqui. Suba na moto. Ele subiu e acionou o pedal da partida. Tanya hesitou, mas então subiu na garupa. Dimka acendeu o farol e eles saíram dali. Enquanto dirigia, ele pensou se a KGB já estaria no apartamento de Vasili vasculhando tudo. Era uma possibilidade, concluiu, mas improvável. Considerando que tivessem prendido umas quarenta ou cinquenta pessoas, levariam a maior parte da noite para conduzir os primeiros interrogatórios, coletar nomes e endereços e decidir quem priorizar. Ainda assim, era sensato ter cautela. Quando chegaram ao endereço que Tanya tinha lhe dado, ele passou na frente sem diminuir a velocidade. Os postes da rua iluminavam um grandioso casarão do século XIX. Todas as construções desse tipo haviam sido convertidas em escritórios para o governo ou então divididas em apartamentos. Não havia nenhum carro estacionado na frente do prédio nem agentes da KGB de casaco de couro à espreita na entrada. Ele deu a volta no quarteirão sem ver nada suspeito. Por fim, estacionou a uns 200 metros da porta. Desceu da moto. Uma mulher que passeava com um cachorro lhes deu boa-noite e passou direto. Dimka e Tanya entraram no prédio. A portaria devia ter sido um salão imponente. Agora, uma solitária lâmpada elétrica revelava um piso de mármore todo lascado e riscado e uma imensa escadaria com vários balaústres faltando no corrimão. Os irmãos subiram a escada. Tanya pegou uma chave e abriu o apartamento. Eles entraram e fecharam a porta. Ela seguiu na frente até a sala. Uma gata cinza os observava, desconfiada. Tanya tirou de um armário uma caixa grande cheia até a metade com ração para gatos. Vasculhou lá dentro até encontrar uma máquina de escrever protegida por uma capa. Então pegou também algumas folhas de papel estêncil. Rasgou as folhas, jogou-as na lareira e acendeu um fósforo para queimá-las. Enquanto as via arder, Dimka perguntou, zangado: – Por que você põe tudo em risco só por causa de um protesto inútil? – Nós vivemos em uma tirania brutal. Temos que fazer alguma coisa para manter viva a esperança. – Nós vivemos em uma sociedade que está desenvolvendo o comunismo – corrigiu Dimka. – É difícil, temos problemas. Mas você deveria ajudar a resolver esses problemas em vez de fomentar o descontentamento. – Como é possível encontrar soluções se ninguém pode falar sobre os problemas?
– No Kremlin nós falamos sobre os problemas o tempo todo. – E os mesmos poucos homens de pensamento limitado sempre decidem não fazer nenhuma mudança importante. – Nem todos têm o pensamento limitado. Alguns estão trabalhando duro para mudar as coisas. É só nos dar um pouco de tempo. – A revolução foi há quarenta anos. De quanto tempo vocês precisam para finalmente reconhecer que o comunismo é um fracasso? As folhas na lareira tinham se transformado rapidamente em cinzas negras. Frustrado, Dimka deu as costas à irmã. – Nós já tivemos esta mesma discussão tantas vezes... Precisamos sair daqui. Ele pegou a máquina de escrever. Tanya recolheu a gata e os dois saíram. Quando estavam deixando o prédio, um homem entrou na portaria carregando uma pasta e acenou com a cabeça ao passar por eles na escada. Dimka torceu para a luz fraca o impedir de ver direito seus rostos. Em frente à porta, Tanya pôs a gata na calçada. – Você agora vai ter que se virar sozinha, Mademoiselle. A gata saiu andando com um ar de desdém. Os dois seguiram depressa pela rua até a esquina, e Dimka tentou sem muito sucesso esconder a máquina de escrever debaixo do paletó. Para sua consternação, a lua tinha nascido e eles estavam bem visíveis. Chegaram à motocicleta. Dimka passou a máquina para Tanya. – Como vamos nos livrar desse troço? – sussurrou. – Jogando no rio? Ele pensou por um instante e então se lembrou de um ponto na margem do rio ao qual ele e alguns colegas de faculdade já tinham ido algumas vezes para passar a noite em claro tomando vodca. – Eu conheço um lugar. Subiram na moto e Dimka saiu do centro em direção ao sul. O lugar em que estava pensando ficava nos arredores da cidade, mas era melhor assim: menos provável alguém reparar neles. Depois de uns vinte minutos dirigindo depressa, ele parou em frente ao mosteiro de Nikolo-Perervinsky. Dotada de uma catedral magnífica, a antiga instituição estava agora em ruínas, abandonada havia décadas e destituída de seus tesouros. Ficava em um trecho de terreno situado entre a principal ferrovia em direção ao sul e o rio Moscou. Os campos à sua volta estavam sendo transformados em canteiros de obras para arranha-céus residenciais, mas à noite o bairro ficava deserto. Não havia ninguém à vista. Dimka empurrou a moto para fora da estrada até o meio de um grupo de árvores e a apoiou
no descanso. Então conduziu Tanya pelo meio do bosque até o mosteiro em ruínas. O luar conferia aos prédios desmoronados um tom branco espectral. As cúpulas da catedral estavam ruindo, mas a maioria dos telhados de telhas verdes das construções do mosteiro permanecia intacta. Dimka não conseguia parar de pensar que os fantasmas de várias gerações de monges o observavam pelas janelas quebradas. Conduziu Tanya por um campo pantanoso na direção oeste até o rio. – Como você conhece este lugar? – ela quis saber. – Nós vínhamos aqui quando estávamos na faculdade. Ficávamos bêbados e víamos o sol nascer acima do rio. Chegaram à beira da água. O rio ali não passava de um canal vagaroso em uma curva larga, e suas águas estavam plácidas sob o luar. No entanto, Dimka sabia que eram fundas o suficiente para o que eles pretendiam fazer. – Que desperdício – disse Tanya, hesitando. Dimka deu de ombros. – Máquinas de escrever são caras, mesmo. – Não é só pelo dinheiro. É uma voz dissidente, uma visão alternativa do mundo, uma forma diferente de pensar. Uma máquina de escrever significa liberdade de expressão. – Nesse caso, você estará melhor sem ela. Tanya entregou a máquina ao irmão. Ele moveu o rolo o mais para a direita possível, de modo a criar um cabo pelo qual segurar o objeto. – Lá vai – falou. Levou o braço para trás e, com toda a força de que foi capaz, atirou a máquina no rio. Não conseguiu jogá-la muito longe, mas ela aterrissou com um baque gratificante e logo sumiu de vista. Os dois irmãos ficaram em pé sob a luz da lua vendo a água se encrespar. – Obrigada – disse Tanya. – Principalmente porque você não acredita no que estou fazendo. Ele passou o braço pelos seus ombros e, juntos, os dois foram embora.
CAPÍTULO SETE
George Jakes estava de mau humor. Embora engessado e pendurado em uma tipoia presa ao seu pescoço, seu braço ainda doía. Ele havia perdido o cobiçado emprego antes mesmo de começar. Exatamente como Greg previra, o escritório de advocacia Fawcett Renshaw havia retirado a proposta depois de o seu nome sair no jornal como um Viajante da Liberdade ferido. Agora ele não sabia o que iria fazer com o resto da vida. A cerimônia de formatura, conhecida como commencement, o “começo”, acontecia no Pátio Antigo de Harvard, uma esplanada coberta de grama e cercada por graciosas construções de tijolo vermelho. Membros do Conselho de Supervisão usavam cartola e fraque. Diplomas honorários foram concedidos ao secretário das Relações Exteriores britânico, um aristocrata sem queixo chamado Lorde Home, e a um membro da equipe de Kennedy na Casa Branca chamado, estranhamente, McGeorge Bundy. George estava um pouco triste por sair da faculdade. Havia passado sete anos ali, primeiro como aluno do ciclo básico, depois no curso de Direito. Conhecera pessoas incríveis e fizera alguns bons amigos. Passara em todas as provas. Saíra com muitas mulheres e fora para a cama com três. Ficara bêbado uma vez e detestara a sensação de perder o controle. Nesse dia, porém, estava mal-humorado demais para se entregar à nostalgia. Depois da violência em Anniston, esperava uma resposta firme do governo Kennedy. Jack Kennedy tinha se apresentado ao eleitorado americano como um homem liberal e conquistara o voto dos negros. Bobby Kennedy era secretário de Justiça, o mais alto cargo de segurança pública do país, e George imaginara que ele fosse dizer, em alto e bom som, que a Constituição norteamericana valia tanto no Alabama quanto em qualquer outro lugar. Só que Bobby não tinha feito isso. Ninguém fora preso por atacar os Viajantes da Liberdade. Nem a polícia local nem o FBI tinham investigado qualquer um dos muitos crimes violentos cometidos. Em pleno ano de 1961, nos Estados Unidos, racistas brancos podiam atacar manifestantes defensores dos direitos civis – quebrar seus ossos, tentar queimá-los vivos – na frente da polícia e sair impunes. A última vez que George vira Maria Summers fora no consultório de um médico. Os Viajantes da Liberdade feridos tinham sido recusados no hospital mais próximo, mas acabaram encontrando profissionais dispostos a atendê-los. George estava com uma enfermeira, recebendo tratamento para o braço quebrado, quando Maria apareceu dizendo ter conseguido um voo para Chicago. Se pudesse, ele teria se levantado e lhe dado um abraço. Mas ela lhe dera apenas um beijo na bochecha antes de sumir. Perguntou-se se algum dia voltaria a vê-la. Eu poderia ter me apaixonado muito por essa mulher, pensou. Talvez já estivesse apaixonado. Em dez dias de conversas ininterruptas, não
se sentira entediado nenhuma vez sequer: ela era tão inteligente quanto ele, talvez até mais. Além disso, apesar do ar inocente, tinha olhos castanhos aveludados que o faziam imaginá-la à luz de velas. A cerimônia de formatura terminou às onze e meia. Formandos, parentes e ex-alunos começaram a se afastar por entre as sombras dos altos olmos a caminho dos almoços oficiais nos quais seriam entregues os diplomas. George procurou seus parentes, que no início não viu. Mas avistou Joseph Hugo. O rapaz estava sozinho, em pé junto à estátua de bronze de John Harvard, acendendo um de seus longos cigarros. Com a beca preta de formatura, sua pele branca parecia ainda mais cadavérica. George cerrou os punhos. Queria matar aquele traidor de porrada, mas o seu braço esquerdo estava inutilizável e, de toda forma, se ele e Hugo tivessem uma briga no Pátio Antigo nesse dia, as consequências seriam gravíssimas. Talvez até perdessem os diplomas. George já estava suficientemente encrencado. O mais sensato seria ignorar o colega e seguir em frente. Mas em vez disso ele disse: – Hugo, seu merda! Apesar do braço ferido de George, o outro rapaz pareceu amedrontado. Tinha a mesma altura e devia ser tão forte quanto George, mas este tinha a vantagem de estar com raiva, e Joseph sabia disso. Olhando para o outro lado, tentou rodear George enquanto resmungava: – Não quero papo com você. – Isso não me espanta. – George avançou para se postar à sua frente. – Você ficou olhando enquanto uma turba enfurecida me atacava. Aqueles arruaceiros quebraram a droga do meu braço! Hugo recuou um passo. – Vocês não deveriam ter ido ao Alabama. – E você não deveria ter se passado por ativista de direitos civis quando na verdade estava espionando para o adversário! Quem estava lhe pagando, a Ku Klux Klan? Hugo empinou o queixo, desafiador, e George teve vontade de socá-lo. – Eu me ofereci para dar informações ao FBI – respondeu Hugo. – Então nem dinheiro você recebeu! Não sei se isso é melhor ou pior. – Mas não vou ser voluntário por muito mais tempo: começo a trabalhar lá na semana que vem. – Ele disse isso em um tom meio constrangido, meio desafiador de quem admite pertencer a uma seita religiosa. – Você foi um dedo-duro tão bom que eles lhe deram um emprego. – Eu sempre quis trabalhar com segurança pública. – Não era isso que você estava fazendo lá em Anniston. Você estava do lado dos criminosos. – Vocês são comunistas. Já os ouvi falando sobre Karl Marx. – E também sobre Hegel, Voltaire, Gandhi e Jesus Cristo. Faça-me o favor, Hugo, nem
você é tão burro assim. – Eu odeio desordem. E era justamente esse o problema, pensou George, amargurado. As pessoas detestavam desordem. A cobertura da imprensa havia culpado os Viajantes por criarem confusão, não os segregacionistas com seus tacos de beisebol e bombas. Isso o deixava louco de frustração: será que ninguém naquele país pensava no que era certo? Do outro lado do gramado, viu Verena Marquand acenando para ele. De repente, perdeu qualquer interesse por Joseph Hugo. Verena estava se formando em letras, mas havia tão poucos negros em Harvard que todos se conheciam. E ela era tão deslumbrante que George teria reparado nela mesmo que houvesse mil garotas negras na universidade. Tinha olhos verdes e a pele da cor de um sorvete de caramelo. Por baixo da beca, usava um vestido verde curto que deixava à mostra um par de pernas compridas e lisinhas. Usava o capelo inclinado sobre a cabeça em um ângulo gracioso. Era dinamite pura. As pessoas diziam que ela e George formavam um belo casal, mas os dois nunca tinham saído juntos. Sempre que ele estava solteiro, ela estava namorando, e vice-versa. Agora era tarde demais. Verena era uma ardente defensora dos direitos civis e depois da formatura iria para Atlanta trabalhar para Martin Luther King. – Aquela sua Viagem da Liberdade foi mesmo o início de algo importante! – disse-lhe ela, entusiasmada. Era verdade. Depois do incêndio do ônibus em Anniston, George fora embora do Alabama de avião com o braço engessado, mas outros haviam continuado a luta. Dez alunos de Nashville pegaram um ônibus até Birmingham, onde foram presos. Outros Viajantes substituíram o primeiro grupo. Houve mais violência por parte de grupos de brancos racistas. As Viagens da Liberdade tinham virado um movimento de massa. – Mas perdi o emprego – disse George. – Vamos para Atlanta trabalhar com King – propôs Verena na mesma hora. George se espantou. – Ele disse para você me chamar? – Não, mas ele precisa de um advogado, e nenhum dos candidatos tem metade da sua inteligência. George ficou intrigado. Quase havia se apaixonado por Maria Summers, mas seria bom esquecê-la: decerto nunca a veria de novo. Pensou se Verena sairia com ele caso os dois estivessem trabalhando para King. – É uma ideia – falou. Mas queria pensar um pouco. – Seus pais vieram hoje? – perguntou, mudando de assunto. – Claro. Venha conhecê-los. Os pais de Verena apoiavam Kennedy e eram verdadeiras celebridades; George estava
torcendo para que agora fossem a público criticar o presidente por sua fraca reação diante da violência segregacionista. Talvez ele e Verena, juntos, conseguissem convencê-los a dar uma declaração pública. Isso aliviaria bastante a dor no seu braço. Ele atravessou o gramado ao lado de Verena. – Mãe, pai, este é o meu amigo George Jakes – disse ela. Seus pais eram um negro alto e bem vestido e uma branca com um penteado louro rebuscado. George já tinha visto fotos suas muitas vezes: eram um casal inter-racial famoso. Percy Marquand, o “Bing Crosby negro”, era astro de cinema e um cantor de voz suave; Babe Lee era uma atriz de teatro especializada em papéis de mulheres de fibra. Percy falou com seu barítono caloroso, gravado em uma dezena de discos de sucesso: – Lá no Alabama esse seu braço foi quebrado por todos nós, Sr. Jakes. É uma honra apertar sua mão. – Obrigado, mas, por favor, me chame de George. Babe Lee estendeu a mão e o fitou nos olhos como se quisesse se casar com ele. – Somos muito gratos a você, George, e estamos orgulhosos também. Sua atitude era tão sedutora que George, constrangido, olhou de esguelha para o marido dela, pensando que Percy talvez estivesse zangado. No entanto, nem Verena nem o pai esboçaram qualquer reação, e ele se perguntou se Babe fazia isso com todos os homens que conhecia. Assim que conseguiu libertar a mão do aperto dela, virou-se para Percy. – Sei que o senhor fez campanha para Kennedy na eleição presidencial do ano passado. Não está com raiva do comportamento dele agora em relação aos direitos civis? – Estamos todos decepcionados – respondeu Percy. – E é bom estarem, mesmo! – intrometeu-se Verena. – Bobby Kennedy pediu uma trégua aos Viajantes. Dá para acreditar em uma coisa dessas? É claro que o CORE recusou. Este país é governado por leis, não por turbas amotinadas! – Justamente o que o secretário de Justiça deveria ter defendido – acrescentou George. Percy assentiu, impassível diante daquele duplo ataque. – Ouvi dizer que o governo fez um acordo com os estados sulistas – disse ele. George apurou os ouvidos: aquilo não tinha saído nos jornais. – Os governadores concordaram em frear as turbas, e é isso que os irmãos Kennedy querem. George sabia que, em política, ninguém nunca dava nada de graça. – Em troca de quê? – O secretário de Justiça vai deixar passar a prisão ilegal dos Viajantes da Liberdade. Verena ficou indignada e irritada com o pai. – Preferiria que você tivesse me contado isso antes, pai – falou, seca. – Eu sabia que você ficaria brava, meu amor. O tratamento condescendente fez o rosto de Verena ficar sombrio, e ela olhou para o outro lado.
George se concentrou na questão mais importante: – O senhor vai protestar publicamente, Sr. Marquand? – Pensei nisso – disse Percy. – Mas não acho que vá ter muito impacto. – Talvez influencie os eleitores negros a não votarem em Kennedy em 1964. – E estamos certos de querer isso? Ter alguém como Dick Nixon na Casa Branca seria pior para todos nós. – Então o que nós podemos fazer? – indagou Verena, indignada. – O que aconteceu lá no Sul no último mês demonstrou, sem sombra de dúvida, que a legislação tal como ela é hoje é fraca. Precisamos de uma nova lei de direitos civis. – Amém – retrucou George. – Eu talvez consiga ajudar a fazer isso acontecer – continuou Percy. – No momento, tenho uma pequena influência na Casa Branca. Se criticar os Kennedy, não terei nenhuma. Na opinião de George, Percy deveria se pronunciar. Verena exprimiu o mesmo pensamento. – Você deveria dizer o que é certo – falou. – Este país está cheio de pessoas prudentes. Foi assim que nos metemos nesta confusão. Sua mãe se ofendeu. – Seu pai é famoso por dizer o que é certo – rebateu, em tom de ultraje. – Ele arriscou o próprio pescoço em incontáveis ocasiões. George viu que Percy não se deixaria convencer. Mas talvez ele tivesse razão: uma nova lei de direitos civis que tornasse impossível para os estados sulistas oprimirem os negros talvez fosse a única solução legítima. – É melhor eu ir procurar meus pais – disse ele. – Foi uma honra conhecê-los. – Pense em ir trabalhar para Martin – gritou Verena enquanto ele se afastava. George foi até o parque no qual os diplomas de Direito seriam distribuídos. Um tablado provisório tinha sido erguido, e mesas de cavalete foram montadas debaixo de toldos para o almoço que seria servido a seguir. Não demorou a encontrar os pais. Sua mãe estava usando um vestido amarelo novo. Devia ter juntado dinheiro para adquirilo: orgulhosa, nunca permitira que os ricos Peshkov lhe comprassem coisas, só para George. Olhou de cima a baixo o filho de beca e capelo. – Nunca senti tanto orgulho na vida! – falou. Então, para espanto de George, desatou a chorar. Ele ficou surpreso; aquilo não era comum. Jacky passara os últimos 25 anos se recusando a demonstrar fraqueza. Ele passou o braço em volta da mãe. – Que sorte a minha ter você, mãe. Soltou-a delicadamente e enxugou suas lágrimas com um lenço branco. Então se virou para o pai. Como a maioria dos ex-alunos de Harvard, Greg estava usando um chapéu de palha com o ano de sua formatura impresso na faixa, 1942. – Parabéns, meu garoto – falou, apertando a mão de George.
Bem, pensou o rapaz, pelo menos ele veio. Seus avós apareceram instantes depois. Ambos eram imigrantes russos. O avô, Lev Peshkov, começara administrando bares e boates em Buffalo e agora era dono de um estúdio em Hollywood; sempre fora um dândi, e nesse dia ostentava um terno branco. George nunca soube o que pensar a seu respeito. As pessoas diziam que ele era um homem de negócios implacável, com pouco respeito pela lei. Por outro lado, Lev sempre fora gentil com o neto negro e, além de pagar seus estudos, também lhe dera uma gorda mesada. Segurou George pelo braço e disse, em tom de confidência: – Tenho apenas um conselho a lhe dar para sua carreira de advogado: não defenda criminosos. – Por quê? – Porque eles são uns perdedores. – Seu avô deu uma risadinha. Muita gente acreditava que o próprio Lev Peshkov tivesse sido um criminoso, um contrabandista de bebidas nos tempos da Lei Seca. – Todos? – perguntou George. – Os que são pegos, sim – respondeu Lev. – Os outros não precisam de advogados. – Ele riu com gosto. A avó de George, Marga, beijou-o carinhosamente. – Não preste atenção no que o seu avô diz – falou. – Tenho de prestar – retrucou George. – Ele pagou meus estudos. Lev apontou um dedo para o neto. – Que bom que você não esquece. Marga ignorou o marido. – Olhe só para você – disse para George com uma voz cheia de afeto. – Tão bonito e agora advogado! George era seu único neto e ela o mimava muito. Com certeza antes do final do dia lhe daria 50 dólares discretamente. Marga tinha sido cantora de boate, e aos 65 anos ainda se movimentava como se estivesse subindo ao palco dentro de um vestido justo. Seus cabelos pretos a essa altura deviam ser pintados. George sabia que a avó estava usando mais joias do que pedia um evento ao ar livre, mas imaginou que na condição de amante, e não de esposa, ela sentisse necessidade daqueles símbolos de status. Havia mais de cinquenta anos que Marga era amante de Lev, e Greg era o único filho do casal. Lev tinha também uma esposa, Olga, e uma filha, Daisy, que era casada com um inglês e morava em Londres. Portanto, George tinha primos ingleses que não conhecia – todos brancos, supunha. Marga beijou Jacky, e George reparou que as pessoas em volta lhes lançaram olhares de espanto e reprovação. Mesmo na liberal Harvard, era raro ver uma pessoa branca beijando
uma negra. Mas a família de George sempre atraía olhares nas raras ocasiões em que todos apareciam juntos em público. Mesmo em lugares que aceitavam todas as raças, uma família mista ainda podia trazer à tona os preconceitos latentes dos brancos. Ele sabia que, antes de o dia terminar, ouviria alguém murmurar a palavra “vira-lata”. Ignoraria o insulto. Seus avós negros já tinham morrido fazia tempo e aqueles eram seus únicos parentes vivos. Ver aquelas quatro pessoas explodindo de orgulho na sua formatura valia qualquer preço. – Almocei ontem com o velho Renshaw – falou Greg. – Convenci-o a renovar a proposta de trabalho da Fawcett Renshaw. – Ah, que maravilha! – exclamou Marga. – No fim das contas você vai mesmo ser advogado em Washington, George! Jacky abriu um raro sorriso para Greg. – Obrigada – falou. Greg ergueu um dedo em sinal de alerta. – Com algumas condições. – Ah, George vai concordar com qualquer coisa dentro dos limites do razoável – falou Marga. – É uma oportunidade excelente para ele. Apesar de saber que ela queria dizer para um rapaz negro, George não protestou. De toda forma, sua avó estava certa. – Que condições? – indagou, cauteloso. – Nada que não se aplique a qualquer advogado do mundo – respondeu Greg. – Você não pode se meter em encrenca, só isso. Um advogado não pode contrariar as autoridades. George ficou desconfiado. – Como assim, encrenca? – É só não participar de mais nenhum tipo de protesto, passeatas, manifestações, essas coisas. De toda forma, no seu primeiro ano como sócio você não vai mesmo ter tempo para essas coisas. Aquilo deixou George irritado. – Quer dizer que eu começaria minha vida profissional prometendo não fazer nada em prol da causa da liberdade. – Não veja as coisas assim – falou seu pai. George engoliu uma resposta irada. Sabia que a família só queria o melhor para ele. Tentando manter um tom de voz neutro, perguntou: – E como eu deveria ver as coisas? – O seu papel no movimento em defesa dos direitos civis não seria o de um soldado da linha de frente, só isso. Apoie a causa. Mande um cheque uma vez por ano para a NAACP. – A Associação Nacional para o Desenvolvimento das Pessoas Negras, o mais antigo e conservador grupo de direitos civis, havia contestado os Viajantes da Liberdade por considerá-los provocadores demais. – Fique na sua e pronto. Deixe outras pessoas subirem no ônibus.
– Pode ser que haja outro jeito – disse George. – E qual seria? – Eu poderia ir trabalhar para Martin Luther King. – Ele lhe ofereceu um emprego? – Fui sondado. – E quanto ele pagaria? – Não muito, imagino. – Não pense que você pode recusar um ótimo emprego e depois vir me pedir mesada – falou Lev. – Tudo bem, vovô – disse George, embora fosse exatamente isso que estivesse pensando. – Mas acho que vou aceitar mesmo assim. Sua mãe se meteu na conversa: – Ah, George, não faça isso – Ia falar mais, porém os formandos foram chamados para fazer a fila e pegar os diplomas. – Vá lá. Conversaremos melhor depois. George se afastou da família e foi ocupar seu lugar na fila. A cerimônia começou e ele foi avançando. Lembrou-se de quando havia trabalhado na Fawcett Renshaw no verão anterior. O Sr. Renshaw se considerava um herói liberal por ter contratado um assistente jurídico negro, mas George recebera atribuições tão fáceis que chegavam a ser humilhantes, até para um estagiário. Fora paciente e ficara de olhos abertos para uma oportunidade, até que uma surgira de fato. Tinha feito uma pesquisa jurídica que permitira ao escritório ganhar uma causa, o que lhe valera uma oferta de emprego depois que se formasse. Aquele tipo de coisa acontecia muito com ele. O mundo partia do princípio de que um aluno de Harvard devia ser inteligente e capaz – a menos que fosse negro; nesse caso, a regra não se aplicava. George tivera de passar a vida inteira provando que não era idiota, o que o deixava ressentido. Se algum dia tivesse filhos, sua esperança era que eles crescessem em um mundo diferente. Chegou sua vez. Quando subiu o curto lance de escada que levava ao tablado, ficou surpreso ao ouvir sibilos. Sibilar era uma tradição em Harvard, geralmente usada contra professores que davam aulas ruins ou eram grosseiros com os alunos. George ficou tão horrorizado que parou no meio da escada e olhou para trás. Seu olhar cruzou com o de Joseph Hugo. Hugo não era o único – os sibilos estavam altos demais para isso –, mas George teve certeza de que fora ele o responsável por orquestrar aquilo. Sentiu-se detestado. Era humilhação demais para que subisse no tablado. Ficou ali, imóvel, e o sangue lhe subiu às faces. Então alguém começou a bater palmas. George correu os olhos pelas fileiras de assentos e viu um professor em pé: era Merv West, um dos mais jovens do corpo docente. Outros seguiram seu exemplo e também aplaudiram, e as palmas logo abafaram os sibilos. Várias outras pessoas se levantaram. George imaginou que até mesmo quem não sabia quem ele era
tinha adivinhado, por causa do braço engessado. Tornou a reunir coragem e subiu no tablado. Gritos de incentivo ecoaram quando recebeu o diploma. Ele se virou devagar para encarar a plateia e agradeceu as palmas com um modesto meneio de cabeça. Então desceu. Quando se juntou aos outros alunos, seu coração parecia querer explodir. Vários homens apertaram sua mão em silêncio. Ele estava ao mesmo tempo horrorizado com os sibilos e exultante com as palmas. Percebeu que estava suando e secou o rosto com um lenço. Que calvário. Assistiu ao resto da formatura em meio a uma névoa, agradecido por ter tempo para se recuperar. Quando o choque provocado pelos sibilos passou, pôde ver que os responsáveis tinham sido Hugo e um punhado de malucos de direita, e que o restante da Harvard liberal o havia homenageado. Eu deveria sentir orgulho, pensou. Os alunos se juntaram às suas famílias para almoçar. A mãe de George lhe deu um abraço. – Eles aplaudiram você – disse ela. – Foi. Mas no começo parecia que ia ser outra coisa. Ele abriu os braços em um gesto de súplica. – Como posso não participar dessa luta? – indagou. – Eu quero muito o emprego na Fawcett Renshaw e quero agradar à família que me apoiou durante todos esses anos de estudos... mas não é só isso. E se eu tiver filhos? – Seria ótimo! – exclamou Marga. – Mas, vó, meus filhos vão ser negros. Em que tipo de mundo irão crescer? Será que vão ser americanos de segunda classe? A conversa foi interrompida por Merv West, que apertou a mão de George e o parabenizou pela formatura. O professor estava vestido um pouco aquém do que pedia a ocasião, com um terno de tweed e sem gravata. – Obrigado por puxar as palmas, professor – falou George. – Não precisa agradecer, você mereceu. George apresentou a família. – Estávamos aqui justamente conversando sobre o meu futuro. – Espero que ainda não tenha tomado nenhuma decisão definitiva. George ficou curioso. O que significaria aquilo? – Ainda não – respondeu. – Por quê? – Tenho conversado com o secretário de Justiça Bobby Kennedy... ele se formou em Harvard, como você sabe. – Espero que tenha dito a ele que a sua forma de lidar com o que aconteceu no Alabama foi uma desgraça nacional. West abriu um sorriso triste. – Não foram exatamente as palavras que usei. Mas ele e eu concordamos que a reação do governo foi inadequada.
– Muito. Não posso imaginar que ele... – George interrompeu a frase quando algo lhe ocorreu. – O que isso tem a ver com decisões sobre o meu futuro? – Bobby decidiu contratar um jovem advogado negro, para o gabinete do secretário ter um ponto de vista negro sobre os direitos civis. Ele me perguntou se eu teria alguém para indicar. George ficou tonto por alguns segundos. – Está dizendo que... West ergueu a mão em um gesto de alerta. – Não estou lhe oferecendo o emprego... só Bobby pode fazer isso. Mas posso conseguir a entrevista para você, se quiser. – George! – exclamou Jacky. – Trabalhar com Bobby Kennedy! Seria fantástico! – Mãe, os Kennedy nos decepcionaram muito. – Então vá trabalhar com Bobby para mudar isso! George hesitou. Olhou para as expressões animadas à sua volta: a mãe, o pai, a avó, o avô, depois tornou a olhar para a mãe. – Pode ser – falou, por fim.
CAPÍTULO OITO
Dimka Dvorkin estava arrasado por ainda ser virgem aos 22 anos. Havia namorado várias garotas na universidade, mas nenhuma delas o deixara ir até o fim. De toda forma, não tinha certeza de que deveria. Ninguém chegara a lhe dizer que o sexo deveria fazer parte de um relacionamento amoroso de longo prazo, mas ele meio que sentia isso mesmo assim. Nunca experimentara aquela pressa louca de transar que alguns rapazes tinham. Mesmo assim, sua falta de experiência já estava virando um constrangimento. Seu amigo Valentin Lebedev era o oposto. Alto e seguro de si, tinha cabelos negros, olhos azuis e charme para dar e vender. Ao final do primeiro ano na Universidade de Moscou, já tinha ido para a cama com a maioria das alunas e com uma professora do departamento de Política. Bem no início de sua amizade, Dimka lhe perguntara: – O que você faz para... enfim, para evitar a gravidez? – Isso é problema da garota, não é? – retrucou Valentin com descaso. – Se o pior acontecer, fazer um aborto não é tão difícil assim. Ao conversar com outros amigos, Dimka descobriu que muitos rapazes soviéticos tinham a mesma atitude. Homens não engravidavam, então aquilo não era problema deles; além do mais, o aborto era legalizado até doze semanas de gestação. Mas não conseguia se sentir à vontade com o comportamento de Valentin, talvez porque sua irmã o desdenhasse tanto. O principal interesse de Valentin era o sexo; os estudos vinham em segundo lugar. Com Dimka acontecia o contrário – por isso ele era assessor no Kremlin, ao passo que Valentin trabalhava para o Departamento de Parques e Jardins de Moscou. Foi graças aos seus contatos no trabalho que, em julho de 1961, Valentin conseguiu fazer os dois irem passar uma semana no VI Acampamento de Férias Lênin para Jovens Comunistas. O acampamento tinha um quê de militar, com barracas armadas em fileiras bem retas e toque de recolher às dez e meia, mas havia uma piscina, um lago para andar de barco e pencas de garotas; uma semana lá era um privilégio muito cobiçado. Dimka sentia que merecia umas férias. A Cúpula de Viena tinha sido uma vitória para a União Soviética, e parte do crédito era sua. Na verdade, Viena começara mal para Kruschev. Kennedy e sua estonteante esposa tinham chegado à cidade a bordo de uma frota de limusines enfeitadas com dezenas de bandeiras dos Estados Unidos. Quando os dois líderes se encontraram, espectadores de TV de todas as partes do mundo viram que Kennedy era vários centímetros mais alto e dominava Kruschev, espiando por baixo da ponta do nariz de aristocrata o cocuruto careca do russo. Seus ternos de alfaiataria e gravatas fininhas faziam Kruschev parecer um camponês endomingado. Os Estados Unidos tinham saído vitoriosos de um concurso de glamour do qual a URSS nem
sequer sabia que estava participando. Começadas as discussões, porém, Kruschev havia dominado a situação. Quando Kennedy tentou ter uma conversa amigável, como entre dois homens sensatos, o premiê soviético pôs-se a falar alto e ficou agressivo. Kennedy sugeriu que não era lógico a URSS incentivar o comunismo em países do Terceiro Mundo e depois protestar, indignada, quando os Estados Unidos tentavam fazer o comunismo recuar na esfera soviética. Com desdém, Kruschev retrucou que a expansão do comunismo era historicamente inevitável, e nada que nenhum dos dois líderes pudesse fazer iria impedir isso. Kennedy, que não conhecia muito bem a filosofia marxista, não soubera o que dizer. A estratégia desenvolvida por Dimka e outros conselheiros saíra vitoriosa. De volta a Moscou, Kruschev ordenou a distribuição de dezenas de exemplares das atas da cúpula, não apenas no bloco soviético, mas para líderes de países tão distantes quando Camboja e México. Desde então, Kennedy se mantivera calado e nem sequer reagira à ameaça de Kruschev de ocupar a parte ocidental de Berlim. E Dimka saíra de férias. No primeiro dia, vestiu suas roupas novas: camisa quadriculada de mangas curtas e um short que a mãe havia feito reaproveitando a calça meio gasta de um terno de sarja azul. – Esse short está na moda no Ocidente? – perguntou Valentin. Dimka riu. – Que eu saiba, não. Enquanto o amigo se barbeava, ele foi comprar mantimentos. Assim que saiu, ficou feliz ao ver, bem ali ao lado, uma moça acendendo o pequeno fogareiro portátil do qual eram providas todas as barracas. Era um pouco mais velha do que Dimka, uns 27 anos, avaliou ele. Tinha cabelos castanho-avermelhados fartos e curtos, e um rosto sardento e atraente. Estava vestida de modo extremamente estiloso, com uma blusa laranja e uma calça preta que acabava logo abaixo do joelho. – Oi! – disse Dimka, sorrindo. Ela ergueu os olhos para ele. – Quer ajuda com isso? Ela acendeu o fogareiro com um fósforo e entrou na barraca sem dizer nada. Bem, não é com ela que eu vou perder a virgindade, pensou Dimka, e se afastou. Comprou ovos e pão na loja ao lado do pavilhão de banheiros comunitários. Quando voltou, havia duas garotas em frente à barraca ao lado: aquela primeira com quem ele tinha falado e uma loura bonita de corpo esguio. A loura usava uma calça preta do mesmo tipo que a da amiga, só que com uma blusa rosa. Valentin estava conversando com elas e ambas riam. Ele as apresentou a Dimka. A ruiva se chamava Nina e, embora ainda parecesse reservada, não fez qualquer referência ao primeiro encontro que tiveram mais cedo. A loura se chamava Anna e ficou claro que era a mais extrovertida, sempre sorridente e jogando os cabelos para trás com um gesto gracioso. Dimka e Valentin tinham levado uma frigideira de ferro na qual pretendiam fazer toda a sua comida, e Dimka a enchera com água para ferver os ovos; as moças, no entanto, estavam mais bem equipadas, e Nina pegou os ovos para preparar blinis.
Aquilo parecia promissor, pensou Dimka. Enquanto comiam, ficou observando Nina. O nariz estreito, a boca pequena e o queixo delicado e pontudo lhe davam um ar distante, como se estivesse sempre avaliando as coisas. Mas ela era voluptuosa, e Dimka sentiu a garganta seca ao pensar que talvez fosse vê-la de maiô. – Dimka e eu vamos pegar um barco e remar até a outra margem do lago – disse Valentin. Era a primeira vez que Dimka ouvia falar nesse plano, mas não contestou. – Por que não vamos os quatro juntos? Podemos levar comida e fazer um piquenique. Aquilo não podia ser tão fácil assim, pensou Dimka. Eles haviam acabado de se conhecer! As moças se entreolharam por um instante, como se conversassem por telepatia, e então Nina falou depressa: – Vamos ver. Primeiro vamos tirar a mesa. Ela começou a recolher pratos e talheres. Foi decepcionante, mas talvez o assunto não estivesse encerrado. Dimka se ofereceu para levar a louça suja até o pavilhão dos banheiros. – Onde você arrumou esse short? – perguntou Nina enquanto caminhavam. – Minha mãe que fez. Ela riu. – Que graça. Dimka se perguntou o que sua irmã poderia estar querendo dizer se falasse aquilo para um homem, e concluiu que significava que ele era gentil, mas não atraente. O pavilhão de concreto abrigava toaletes, chuveiros e grandes pias comunitárias. Dimka ficou olhando Nina lavar a louça. Tentou pensar em coisas para dizer, mas nada lhe ocorreu. Se ela lhe perguntasse sobre a crise em Berlim, ele poderia passar o dia inteiro falando. Mas não tinha dom algum para a fieira de bobagens que Valentin sabia fazer jorrar da boca sem qualquer esforço. Depois de algum tempo, conseguiu articular: – Você e Anna são amigas há muito tempo? – Trabalhamos juntas – respondeu Nina. – Nós duas trabalhamos na administração da sede do sindicato dos metalúrgicos em Moscou. Eu me divorciei há um ano e Anna estava procurando alguém com quem dividir apartamento, então agora moramos juntas. Divorciada, pensou Dimka; isso queria dizer que ela era sexualmente experiente. Sentiu-se intimidado. – Como era o seu marido? – Ele é um merda – respondeu Nina. – Não gosto de falar dele. – Tudo bem. – Desesperado, ele tentou encontrar alguma coisa inofensiva para dizer. – Anna parece uma moça bem simpática – arriscou. – Ela conhece muita gente. Parecia um comentário estranho de se fazer sobre uma amiga. – Como assim?
– O pai dela nos arrumou estas férias. Ele é o secretário do sindicato para o distrito de Moscou. Ela parecia sentir orgulho disso. Dimka levou a louça limpa de volta para as barracas. Quando chegaram, Valentin falou, alegre: – Fizemos sanduíches... presunto com queijo. Anna olhou para Nina e fez um gesto de impotência, como quem avisa que fora incapaz de frear o rolo compressor que era Valentin, mas ficou claro para Dimka que ela na verdade não quisera detê-lo. Nina deu de ombros e assim ficou decidido que os quatro fariam o piquenique. Tiveram de fazer fila para pegar um barco, mas os moscovitas estavam acostumados com filas, e no final da manhã já navegavam pelas águas claras e geladas. Valentin e Dimka se revezavam nos remos enquanto as moças tomavam sol. Ninguém pareceu achar necessário jogar conversa fora. Do outro lado do lago, amarraram o barco em uma prainha. Valentin tirou a camisa e Dimka o imitou. Anna tirou a blusa e a calça; por baixo estava usando uma roupa de banho azul-celeste de duas peças. Dimka sabia que aquilo se chamava biquíni e estava na moda no Ocidente, mas era a primeira vez que via um, e ficou constrangido com a própria excitação. Quase não conseguiu desgrudar os olhos daquela barriga chapada lisinha e daquele umbigo. Para sua decepção, Nina ficou de roupa. Eles comeram os sanduíches e Valentin sacou uma garrafa de vodca. Dimka sabia que a loja da colônia de férias não vendia álcool. – Comprei do supervisor dos barcos – explicou Valentin. – Ele montou uma pequena operação capitalista. Dimka não se espantou: a maioria das coisas que as pessoas realmente queriam era vendida no mercado negro, de televisores a calças jeans. A garrafa passou de mão em mão e as moças beberam goles generosos. Nina secou a boca com as costas da mão. – Vocês dois trabalham juntos no Parques e Jardins? – Não – respondeu Valentin, rindo. – Dimka é inteligente demais para isso. – Eu trabalho no Kremlin – falou Dimka. Nina ficou impressionada. – O que você faz lá? Ele não gostava muito de dizer, porque parecia que estava se gabando. – Sou assessor do primeiro-secretário. – Do camarada Kruschev?! – indagou Nina, pasma. – Isso. – Como conseguiu um emprego assim? – Ele é inteligente, já falei. Foi o melhor aluno de todas as turmas.
– Ninguém consegue um emprego assim só tirando boas notas – disse Nina, seca. – Quem você conhece? – Meu avô, Grigori Peshkov, invadiu o Palácio de Inverno na Revolução de Outubro. – Isso não garante um bom emprego. – Bom, meu pai era da KGB; ele morreu ano passado. Meu tio é general. E eu sou mesmo inteligente. – E modesto – disse ela, mas seu sarcasmo soou bem-humorado. – Qual é o nome do seu tio? – Vladimir Peshkov. Na família ele é chamado de Volodya. – Já ouvi falar no general Peshkov. Quer dizer então que ele é seu tio... Com uma família dessas, como é que você usa um short costurado em casa? Dimka ficou confuso. Pela primeira vez Nina se mostrava interessada nele, mas não conseguia saber se era por admiração ou por desdém. Talvez fosse apenas o jeito dela. Valentin se levantou. – Venha, vamos explorar – falou para Anna. – Vamos deixar esses dois aqui conversando sobre o short que Dimka está usando. – Ele estendeu a mão. Anna a segurou e deixou que ele a puxasse até pô-la de pé. Os dois então se afastaram de mãos dadas em direção à mata. – Seu amigo não gosta de mim – falou Nina. – Mas gosta de Anna. – Ela é bonita. – E você é linda – retrucou Dimka baixinho. Não havia planejado dizer isso, simplesmente saiu. Mas era verdade. Nina o encarou, pensativa, como se o estivesse reavaliando. Então perguntou: – Quer nadar? Dimka não gostava muito de água, mas queria vê-la de maiô. Tirou a roupa; estava de calção por baixo do short. Nina usava um maiô inteiro de náilon marrom em vez de biquíni, mas o preenchia tão bem que Dimka não ficou desapontado. Ela era o oposto da esbelta Anna: tinha seios fartos, quadris largos e um pescoço todo sardento. Reparou no olhar dele sobre seu corpo, virou-lhes as costas e correu para a água. Dimka foi atrás. Apesar do sol, o lago estava gelado, mas mesmo assim ele gostou do contato sensual da água em seu corpo. Os dois nadaram vigorosamente para se aquecer. Foram até o meio do lago, depois voltaram para a margem mais devagar. Pararam antes de chegar à praia, e Dimka deixou os pés alcançarem o fundo. A água batia em suas cinturas. Ele olhou para os seios de Nina: a água fria fazia seus mamilos se contraírem e ficarem aparentes por baixo do maiô. – Pare de olhar – disse ela, jogando água na cara dele de brincadeira. Ele revidou.
– Então tá! – exclamou ela, e o segurou pela cabeça para tentar lhe dar um caldo. Dimka se debateu e a segurou pela cintura. Os dois lutaram dentro d’água. Embora fosse pesado, o corpo de Nina era firme, e ele apreciou aquela solidez. Passou os dois braços em volta dela e tirou seus pés do chão. Quando ela se debateu, rindo e tentando se soltar, ele a puxou com mais firmeza para junto de si e sentiu no rosto o contato de seus seios macios. – Eu me rendo! – gritou ela. A contragosto, ele a recolocou no chão. Por um instante, os dois se entreolharam e ele viu nos olhos dela uma centelha de desejo. Alguma coisa havia mudado sua atitude em relação a ele: a vodca, a consciência de que ele era um poderoso apparatchik, a empolgação da brincadeira na água, ou talvez as três coisas juntas. Não fazia diferença: ele viu o convite no sorriso dela e lhe deu um beijo na boca. Ela retribuiu com entusiasmo. Perdido nas sensações provocadas pelos lábios e pela língua dela, ele esqueceu a água fria, mas alguns minutos depois Nina estremeceu e disse: – Vamos sair. Ele lhe deu a mão enquanto atravessavam a água rasa até o seco. Deitaram-se na grama lado a lado e voltaram a se beijar. Dimka tocou seus seios e começou a pensar se aquele seria o dia em que iria perder a virginidade. Então foram interrompidos por uma voz dura que saiu de um megafone: – Levem os barcos de volta para o cais! Seu tempo acabou! – É a polícia do sexo – murmurou Nina. Apesar da decepção, Dimka riu. Ao erguer os olhos, viu um bote de borracha com motor de popa passando a uns 100 metros da margem. Acenou para avisar que tinham escutado. Eles podiam ficar com o barco por duas horas. Supunha que um suborno ao supervisor poderia ter lhes garantido uma extensão de prazo, mas não havia pensado nisso antes. Na verdade, nem sequer sonhava que sua situação com Nina fosse evoluir tão depressa. – Não podemos voltar sem os outros – disse ela, mas segundos depois Valentin e Anna surgiram da mata. Deviam estar bem ali por perto, pensou Dimka, e também tinham escutado o aviso pelo megafone. Os rapazes se afastaram um pouco das moças e todos vestiram as roupas por cima dos trajes de banho. Dimka ouviu Nina e Anna conversando em voz baixa, Anna em tom urgente, e Nina dando risadinhas e concordando com meneios de cabeça. Então Anna encarou Valentin com um olhar significativo. Aquilo parecia ser um sinal combinado de antemão. Valentin assentiu e virou-se para Dimka. Bem baixinho, falou: – Vamos os quatro ao baile de dança folclórica hoje à noite. Quando voltarmos, Anna vai para a nossa barraca comigo. E você vai para a delas com Nina. Tudo bem?
Estava mais do que tudo bem: aquilo era incrível. – Você combinou tudo com Anna? – Combinei, e Nina acabou de concordar. Dimka mal pôde acreditar. Seria capaz de passar a noite inteira abraçando aquele corpo rijo. – Ela gosta de mim! – Deve ser o short. Eles subiram no barco e remaram de volta. As moças anunciaram que iriam tomar uma ducha assim que chegassem. Dimka ficou pensando em como poderia fazer o tempo passar depressa até a noite. Quando chegaram ao deque, viram um homem de terno preto à sua espera. Por instinto, Dimka soube que era um mensageiro para ele. Eu deveria ter desconfiado, pensou, pesaroso; tudo estava indo bem demais. Todos desceram do barco. Nina olhou para o homem que suava dentro do terno e perguntou: – Nós vamos ser presos por ficar tempo demais com o barco? Não era de todo uma brincadeira. – O senhor quer falar comigo? – indagou Dimka. – Sou Dmitri Dvorkin. – Sim, Dmitri Ilich – respondeu o homem, respeitoso, usando seu patronímico. – Sou o seu motorista. Vim levá-lo para o aeroporto. – Qual é a emergência? O sujeito deu de ombros. – O primeiro-secretário quer falar com o senhor. – Vou pegar minhas coisas – disse Dimka, a contragosto. Para seu parco consolo, Nina estava embasbacada.
O carro levou Dimka até o aeroporto de Vnukovo, a sudoeste de Moscou, onde Vera Pletner o aguardava com um envelope grande na mão e uma passagem para Tbilisi, capital da república socialista soviética da Geórgia. Kruschev não estava em Moscou, mas sim em sua dacha, a residência secundária que tinha em Pitsunda, balneário no mar Negro apreciado pelos altos funcionários do governo; era para lá que Dimka estava indo. Era a primeira vez que andava de avião. Não era o único assessor cujas férias tinham sido interrompidas. No salão de embarque, prestes a abrir o envelope, foi abordado por Yevgeny Filipov; apesar do clima de verão, o outro assessor usava sua habitual camisa de flanela cinza. Tinha um ar satisfeito, o que não podia ser bom sinal.
– Sua estratégia fracassou – disse ele para Dimka com evidente satisfação. – O que houve? – O presidente Kennedy fez um pronunciamento na televisão. Kennedy passara sete semanas calado, desde a Cúpula de Viena. Os Estados Unidos não haviam reagido à ameaça de Kruschev de assinar um tratado com a Alemanha Oriental e retomar a parte ocidental de Berlim. Dimka imaginara que o presidente americano estivesse acovardado demais para enfrentar Kruschev. – Sobre o quê? – Ele disse para o povo americano se preparar para uma guerra. Então era essa a emergência. O embarque foi anunciado. – O que Kennedy falou exatamente? – perguntou Dimka. – Falando sobre Berlim, ele disse: “Um ataque àquela cidade será considerado um ataque a todos nós.” A íntegra do discurso está aí dentro do seu envelope. Quando eles embarcaram, Dimka ainda estava usando seu short de férias. O avião era um jato Tupolev Tu-104. Dimka olhou pela janela durante a decolagem. Sabia como funcionavam as aeronaves, entendia como a superfície superior curva das asas criava uma diferença na pressão do ar, mas mesmo assim pareceu-lhe magia quando o avião subiu aos ares. Por fim, forçou-se a desgrudar os olhos lá de fora e abriu o envelope. Filipov não tinha exagerado. Kennedy não estava apenas fazendo bravatas ameaçadoras. Propunha triplicar o alistamento obrigatório, convocar os reservistas e aumentar o Exército americano para um milhão de homens. Estava preparando um novo corredor aéreo até Berlim, transferindo seis divisões para a Europa e planejando sanções econômicas a países-membros do Pacto de Varsóvia. Além disso, havia aumentado o orçamento militar em mais de três bilhões de dólares. Dimka percebeu que a estratégia planejada por Kruschev e seus assessores tinha sido um fracasso retumbante. Todos eles haviam subestimado o belo e jovem presidente. No final das contas, Kennedy não se deixara intimidar. O que Kruschev poderia fazer? Talvez ele fosse obrigado a renunciar. Nenhum líder soviético jamais fizera isso – tanto Lênin quanto Stalin tinham morrido no poder –, mas na política revolucionária sempre havia uma primeira vez para tudo. Dimka leu o discurso duas vezes e passou o resto da viagem de duas horas refletindo a respeito. Só havia uma alternativa à renúncia de Kruschev, pensou: demitir todos os assessores, arrumar novos conselheiros e reformular o Presidium, dando mais poder a seus inimigos, como reconhecimento de que ele estava errado e garantia de buscar conselhos mais sensatos no futuro. De toda forma, era o fim da curta carreira de Dimka no Kremlin. Talvez aquilo tivesse sido
ambicioso demais, pensou ele, pessimista. Sem dúvida um futuro mais modesto o aguardava. Pensou se a voluptuosa Nina ainda iria querer passar a noite com ele. O voo pousou em Tbilisi, e uma pequena aeronave militar levou Dimka e Filipov até uma pista de pouso no litoral. Natalya Smotrov, do Ministério das Relações Exteriores, os aguardava lá. O ar úmido da beira-mar deixara seus cabelos encaracolados, o que lhe dava um aspecto libertino. – Más notícias de Pervukhin – disse ela enquanto os acompanhava para longe do avião. Mikhail Pervukhin era o embaixador soviético na Alemanha Oriental. – O fluxo de emigrantes para o Ocidente virou uma enxurrada. Filipov fez cara de irritação, decerto porque Natalya não tinha lhe dado aquela notícia antes. – De que números estamos falando? – Quase mil pessoas por dia. Dimka ficou estarrecido. – Mil por dia? Natalya assentiu. – Pervukhin disse que o governo da Alemanha Oriental não é mais estável. O país está à beira do colapso. Há risco de levante popular. – Está vendo? – disse Filipov para Dimka. – Foi isso que a sua política causou. Dimka não soube o que responder. Natalya avançou pela estrada à beira-mar até uma península arborizada e entrou por um imenso portão de ferro aberto em um longo muro de estuque. Entre gramados perfeitos erguiase uma mansão branca com uma varanda comprida no andar superior. Ao lado da casa, uma piscina olímpica. Dimka nunca tinha visto uma casa com piscina particular. – Ele está na beira do mar – disse um guarda a Dimka, meneando a cabeça em direção ao outro extremo da casa. Dimka avançou por entre as árvores até uma praia de seixos. Um soldado com uma metralhadora lançou-lhe um olhar duro quando ele passou. Encontrou Kruschev debaixo de uma palmeira. O segundo homem mais poderoso do mundo era baixo, gordo, careca e feio. Usava uma calça social presa por suspensórios e uma camisa branca com as mangas arregaçadas. Estava sentado em uma cadeira de praia feita de vime, e sobre uma mesinha à sua frente havia uma jarra d’água e um copinho de vidro. Não parecia estar fazendo nada. Olhou para Dimka e perguntou: – Onde arrumou esse short? – Foi minha mãe quem costurou. – Eu deveria ter um short. Dimka disse as palavras que havia ensaiado: – Camarada primeiro-secretário, quero apresentar minha demissão.
Kruschev o ignorou. – Nos próximos vinte anos, nós vamos ultrapassar os Estados Unidos tanto em poderio militar quanto em prosperidade econômica – falou, como quem continua uma conversa já em andamento. – Mas, enquanto isso, como vamos impedir a potência mais forte de dominar a política mundial e conter a expansão do comunismo? – Não sei – respondeu o rapaz. – Observe – disse Kruschev. – Eu sou a União Soviética. – Empunhando a jarra, ele serviu água no copinho devagar até a borda. Então passou a jarra para Dimka. – Você é os Estados Unidos. Agora sirva água no copo. Dimka fez o que ele mandava. O copo transbordou, e a água encharcou a toalha branca da mesa. – Está vendo? – indagou Kruschev, como se houvesse conduzido uma demonstração. – Quando o copo já está cheio, não é possível enchê-lo mais sem fazer lambança. Dimka não entendeu nada. Fez a pergunta esperada: – Qual é o significado disso, Nikita Sergueievitch? – A política internacional é como um copo. Movimentos agressivos de qualquer parte despejam mais água. O transbordamento é a guerra. Dimka então entendeu. – Quando a tensão já está no máximo, ninguém pode fazer movimento nenhum sem provocar uma guerra. – Muito bem. E os americanos não querem uma guerra, assim como nós não queremos. Portanto, se mantivermos a tensão internacional no máximo e o copo cheio até a borda, o presidente americano ficará impotente. Como não pode agir sem provocar uma guerra, será obrigado a não fazer nada! Dimka percebeu que o raciocínio era brilhante, e demonstrava como a potência mais fraca podia levar a melhor. – Quer dizer que Kennedy agora não pode fazer nada? – indagou. – Porque o próximo movimento dele é uma guerra! Será que aquele era o plano de Kruschev desde o início?, perguntou-se Dimka. Ou será que ele tinha apenas inventado tudo aquilo depois, para se justificar? O premiê era acima de tudo um improvisador. Pouco importava. – Mas então o que vamos fazer em relação à crise de Berlim? – indagou. – Nós vamos construir um muro – respondeu Kruschev.
CAPÍTULO NOVE
George Jakes levou Verena Marquand para almoçar no Jockey Club. Na realidade não se tratava de um clube, mas de um novo e chique restaurante no Hotel Fairfax que caíra nas graças da turma de Kennedy. George e Verena eram o casal mais bem-arrumado do lugar, ela deslumbrante em um vestido quadriculado de guingão com um largo cinto vermelho, ele com um blazer de linho azul-escuro de alfaiataria e gravata listrada. Mesmo assim, foram postos em uma mesa junto à porta da cozinha. Washington era uma cidade integrada, mas não desprovida de preconceitos. George não se deixou abalar. Verena estava na cidade com os pais. O casal fora convidado à Casa Branca mais tarde nesse dia para um coquetel de agradecimento aos grandes doadores de campanha como os Marquand – e, como George sabia, também para garantir seu apoio nas eleições seguintes. Verena olhou em volta com ar de apreciação. – Faz muito tempo que não vou a um restaurante decente – comentou. – Atlanta é um deserto. Filha de astros de Hollywood, ela fora criada achando que o luxo era normal. – Você deveria se mudar para cá – disse-lhe George, fitando seus olhos verdes cativantes. O vestido sem mangas valorizava a perfeição de sua pele cor de café com leite, e Verena com certeza sabia disso. Se ela se mudasse para Washington, ele sem dúvida a chamaria para sair. Estava tentando esquecer Maria Summers. Agora namorava Norine Latimer, estudante de história que trabalhava como secretária no Museu de História Americana. Ela era bonita e inteligente, mas o namoro não estava dando certo: ele ainda pensava em Maria o tempo todo. Talvez Verena fosse uma cura mais eficaz. Naturalmente, guardou esse pensamento para si. – Lá na Geórgia você está longe de tudo – falou. – Nem tanto – retrucou ela. – Eu trabalho para Martin Luther King. Ele vai mudar os Estados Unidos mais do que John F. Kennedy. – Isso porque o Dr. King só trata de uma questão: os direitos civis. O presidente cuida de cem. Ele é o defensor do mundo livre. No momento, sua maior preocupação é Berlim. – Curioso, não? Ele acredita na liberdade e na democracia para a população de Berlim Oriental, mas não para os negros americanos do Sul do próprio país. George sorriu. Verena era sempre combativa. – Não se trata só de acreditar – disse ele. – Trata-se do que ele pode realizar. Ela deu de ombros. – E que diferença você pode fazer? – O Departamento de Justiça emprega 950 advogados. Antes de eu chegar, só dez eram
negros. Eu represento uma melhoria de dez por cento. – E o que você já conseguiu fazer? – O departamento está sendo duro com a Comissão de Comércio Interestadual. Bobby pediu a eles para banir a segregação no serviço de ônibus. – E o que o leva a pensar que essa legislação vai ser mais aplicada do que todas as anteriores? – Não muita coisa, até agora. – George estava frustrado, mas queria esconder de Verena o quanto. – Tem um cara chamado Dennis Wilson, um jovem advogado branco da equipe pessoal de Bobby, que me vê como uma ameaça e me deixa de fora das reuniões realmente importantes. – Mas como é possível? Você foi contratado por Robert Kennedy. Ele não quer ouvir sua opinião? – Preciso conquistar a confiança de Bobby. – Você é um enfeite – disse ela com desdém. – Com sua presença lá, Bobby pode dizer ao mundo que um negro lhe dá conselhos sobre direitos civis. Ele não precisa escutar o que você diz. George temia que ela tivesse razão, mas não deu o braço a torcer: – Isso depende de mim. Eu preciso fazê-lo escutar. – Vá para Atlanta – disse ela. – A vaga com o Dr. King continua aberta. George fez que não com a cabeça. – Minha carreira é aqui. – Lembrou-se do que Maria dissera e repetiu para Verena: – Os manifestantes podem ter um forte impacto, mas no fim das contas quem transforma o mundo são os governos. – Alguns sim, outros não – falou ela. Ao saírem, encontraram Jacky à sua espera no saguão do hotel. George havia combinado encontrar a mãe ali, mas não imaginava que ela fosse esperar do lado de fora do restaurante. – Por que não entrou para se juntar a nós? – indagou. Jacky ignorou a pergunta e se dirigiu a Verena: – Nós nos conhecemos rapidamente no dia da formatura em Harvard – falou. – Como vai, Verena? – Estava se esforçando para ser educada, o que George sabia ser um sinal de que ela na verdade não gostava da moça. Ele acompanhou Verena até um táxi e se despediu dela com um beijo na bochecha. – Foi um prazer rever você – falou. Ele e a mãe seguiram a pé até o Departamento de Justiça. Ela queria ver onde o filho trabalhava. George havia combinado sua visita em um dia tranquilo: Bobby Kennedy estava na sede da CIA em Langley, Virgínia, a pouco mais de 10 quilômetros do centro da cidade. Jacky havia tirado uma folga do trabalho. Estava vestida à altura da ocasião, com chapéu e luvas, como quem vai à igreja. Enquanto caminhavam, George perguntou: – O que você acha de Verena?
– É uma moça linda – respondeu Jacky. – Você iria gostar das opiniões políticas dela – falou George. – Você e Kruschev. – Ele estava exagerando, mas tanto Verena quanto Jacky eram ultraliberais. – Ela acha que os cubanos têm o direito de serem comunistas se quiserem. – E têm mesmo – disse Jacky, provando que ele estava certo. – Do que você não gosta nela, então? – De nada. – Mãe, nós homens não somos muito intuitivos, mas passei minha vida inteira estudando você e sei quando tem reservas. Ela sorriu e tocou afetuosamente o braço do filho. – Você está atraído e posso entender por quê: ela é uma moça irresistível. Não quero falar mal de alguém de quem você gosta, mas... – Mas o quê? – Talvez seja difícil ser casado com Verena. Tenho a sensação de que ela pensa em si mesma em primeiro, segundo e terceiro lugar. – Você a acha egoísta. – Egoístas somos todos. Eu a acho mimada. George assentiu e tentou não se ofender. Sua mãe provavelmente estava certa. – Não precisa se preocupar – falou. – Ela está decidida a continuar em Atlanta. – Bom, talvez seja melhor assim. Eu só quero que você seja feliz. O Departamento de Justiça ficava em um prédio grandioso, em estilo clássico, situado bem em frente à Casa Branca. Jacky pareceu inflar um pouco de orgulho quando eles entraram. Agradava-lhe que o filho trabalhasse em um lugar tão prestigioso. George gostou de sua reação. Jacky tinha esse direito: dedicara sua vida a ele, e aquela era a sua recompensa. Entraram no Grande Hall. Jacky gostou dos célebres murais com cenas da vida americana, mas olhou torto para a estátua de alumínio do Espírito da Justiça, que mostrava uma mulher com um dos seios nu. – Não sou pudica, mas não vejo por que a Justiça precisa estar com o busto de fora – comentou. – Por que isso? George refletiu. – Para mostrar que a Justiça não tem nada a esconder? Sua mãe riu. – Boa tentativa. Eles subiram no elevador. – Como está seu braço? – indagou Jacky. Ele já havia tirado o gesso e não precisava mais de tipoia. – Ainda dói – respondeu. – Tenho achado que ficar com a mão esquerda no bolso ajuda. Dá um pouco de sustentação ao braço. Eles desceram no quinto andar. George levou a mãe até a sala que dividia com Dennis
Wilson e vários outros colegas. A sala de Bobby Kennedy ficava logo ao lado. Dennis estava sentado diante de sua mesa perto da porta. Era um homem pálido cujos cabelos louros começavam prematuramente a rarear. – A que horas ele volta? – perguntou-lhe George. Dennis sabia que ele estava se referindo ao secretário. – Vai demorar mais uma hora, no mínimo. – Venha ver a sala de Bobby Kennedy – disse George para Jacky. – Tem certeza de que não tem problema? – Ele não está. Não acharia ruim. George fez a mãe atravessar uma antessala, meneando a cabeça para duas secretárias, e entrou na sala do secretário de Justiça. Parecia mais a sala de estar de uma grande casa de campo, com paredes revestidas de nogueira, uma imensa lareira de pedra, tapete e cortinas estampados e luminárias sobre mesas de apoio. Era um cômodo imenso, mas mesmo assim Bobby conseguira fazê-lo parecer abarrotado. A decoração incluía um aquário e um tigre empalhado. A enorme escrivaninha estava coberta por uma profusão de papéis, cinzeiros e fotos de família. Quatro telefones repousavam sobre uma prateleira atrás da cadeira da escrivaninha. – Lembra aquela casa perto da Union Station em que morávamos quando você era pequeno? – perguntou Jacky. – Claro. – A casa inteira caberia aqui dentro. George olhou em volta. – É, acho que sim. – E essa escrivaninha é maior do que a cama em que você e eu dormimos juntos até você fazer 4 anos. – Nós dois e o cachorro. Sobre a escrivaninha havia uma boina verde, parte do uniforme das Forças Especiais do Exército americano que Bobby tanto admirava. Mas Jacky estava mais interessada nas fotografias. George pegou um porta-retratos com uma imagem de Bobby e Ethel sentados no gramado em frente a um casarão cercados pelos sete filhos. – Esta aqui foi tirada em frente a Hickory Hill, a casa que eles têm em McLean, na Virgínia. – Passou a foto para a mãe. – Gostei – disse ela, estudando a fotografia. – Ele dá valor à família. Uma voz confiante com sotaque de Boston perguntou: – Quem dá valor à família? George girou nos calcanhares e viu Bobby Kennedy entrando na sala. O secretário estava usando um terno cinza-claro de verão todo amarrotado. Tinha a gravata frouxa e o colarinho desabotoado. Não era tão bonito quanto o irmão mais velho, principalmente por causa dos dentes da frente grandes e saltados como os de um coelho.
George ficou constrangido. – Secretário, me desculpe – falou. – Pensei que o senhor fosse passar a tarde inteira fora. – Não tem problema – respondeu Bobby, mas George não teve certeza se ele estava sendo sincero. – Isto aqui pertence ao povo americano... quem quiser pode olhar. – Esta é minha mãe, Jacky Jakes – apresentou George. Bobby apertou a mão dela com vigor. – Sra. Jakes, parabéns pelo seu filho – falou, ligando o botão do charme como fazia toda vez que conversava com algum eleitor. O rosto de Jacky estava escuro de vergonha, mas ela respondeu sem hesitar: – Obrigada. O senhor tem vários... estava vendo aqui nesta foto. – Quatro meninos e três meninas. Todos maravilhosos, e falo com total imparcialidade. Todos riram. – Foi um prazer conhecê-la, Sra. Jakes. Venha nos visitar sempre que quiser – falou Bobby. Apesar de bem-educada, era claramente uma dispensa, e George e a mãe saíram da sala. Seguiram pelo corredor até o elevador. – Que constrangimento – comentou Jacky. – Mas ele foi educado. – Foi uma armação – retrucou George, zangado. – Bobby nunca chega cedo para nada. Dennis nos enganou de propósito. Quis me fazer parecer presunçoso. Jacky afagou seu braço. – Se essa for a pior coisa que acontecer hoje, estamos bem. – Não sei. – George se lembrou da acusação de Verena, de que o seu emprego era só um enfeite. – Você acha que o meu papel aqui pode ser só dar a impressão de que Bobby está ouvindo os negros, quando na verdade não está? Jacky refletiu um pouco. – Pode ser. – Talvez eu seja mais útil trabalhando para Martin Luther King em Atlanta. – Entendo como você se sente, mas acho que deveria ficar aqui. – Eu sabia que você diria isso. Ele a acompanhou até o lado de fora do prédio. – Como é o seu apartamento? – perguntou ela. – Minha próxima visita vai ser lá. – É ótimo. – Ele havia alugado o último andar de uma casa vitoriana alta e estreita no bairro de Capitol Hill. – Pode ir no domingo. – Para eu poder preparar o jantar na sua cozinha? – Que oferta generosa. – Vou conhecer sua namorada? – Sim, eu convido Norine. Eles se despediram com um beijo. Jacky pegaria um trem de subúrbio até sua casa no condado de Prince George, em Maryland. Antes de se afastar, ela disse:
– Lembre-se do seguinte: há mil rapazes inteligentes querendo trabalhar para Martin Luther King, mas só um negro sentado na sala ao lado da de Bobby Kennedy. Ela estava certa, pensou George. Geralmente estava. Ao voltar para sua sala, não disse nada a Dennis; apenas sentou-se à mesa e escreveu para Bobby o resumo de um relatório sobre integração escolar. Às cinco da tarde, o secretário de Justiça e seus assessores entraram em limusines para fazer o curto trajeto até a Casa Branca, onde ele tinha hora marcada com o presidente. Era a primeira vez que George participava de uma reunião na Casa Branca, e ele se perguntou se isso seria um sinal de que estava ficando mais digno de confiança – ou apenas de que a reunião era menos importante. Eles entraram na Ala Oeste e foram até a Sala do Gabinete, recinto comprido com quatro janelas altas em uma das paredes. Umas vinte cadeiras de couro azul-escuro rodeavam uma mesa em formato de caixão. Naquela sala eram tomadas decisões que abalavam o mundo, pensou George com solenidade. Quinze minutos depois, ainda não havia nem sinal do presidente Kennedy. – Pode ir se certificar de que Dave Powers sabe que estamos aqui? – pediu Dennis a George. Powers era o assistente pessoal do presidente. – Claro – respondeu George. Sete anos em Harvard para virar garoto de recados, pensou. Antes da reunião com Bobby, o presidente ficara de passar em uma festa para celebridades que o apoiavam. George se afastou na direção do edifício principal e foi seguindo o barulho. Sob os imensos lustres do Salão Leste, umas cem pessoas já estavam em sua segunda hora de drinques. George acenou para Percy Marquand e Babe Lee, pais de Verena, que conversavam com alguém do Comitê Democrata Nacional. O presidente não estava no salão. Olhando em volta, George viu a entrada de uma cozinha. Ficara sabendo que o presidente gostava de usar portas de serviço e corredores dos fundos para evitar ser abordado e atrasado o tempo inteiro. Passou por uma porta de serviço e logo do outro lado encontrou a comitiva presidencial. Bonito e bronzeado, o presidente de apenas 44 anos usava um terno azul-marinho com uma camisa branca e uma gravata fininha. Parecia cansado e irritado. – Não posso ser fotografado com um casal inter-racial! – falou, em tom frustrado, como se estivesse sendo obrigado a se repetir. – Eu perderia dez milhões de votos! George só tinha visto um casal inter-racial no salão: Percy Marquand e Babe Lee. Ficou indignado. Quer dizer que aquele presidente liberal tinha medo de ser fotografado com eles? Dave Powers era um simpático homem de meia-idade, narigudo e calvo, que não poderia ser mais diferente de seu superior. – O que devo fazer? – indagou ao presidente. – Tire-os de lá!
Dave era amigo pessoal do presidente e não teve medo de lhe mostrar sua irritação: – E o que digo a eles, pelo amor de Deus? De repente, a raiva de George passou e ele começou a raciocinar. Seria aquela uma oportunidade para ele? Sem nenhum plano definido, falou: – Presidente, meu nome é George Jakes, eu trabalho para o secretário de Justiça. Posso cuidar desse problema para o senhor? Observou os rostos dos presentes e entendeu o que eles estavam pensando: se Percy Marquand seria ofendido na Casa Branca, antes fosse por um negro. – Caramba, pode sim – respondeu o presidente. – Eu ficaria muito grato, George. – Pois não – retrucou o rapaz, e voltou ao salão. Mas o que iria fazer? Foi refletindo enquanto atravessava o recinto de chão encerado em direção a Percy e Babe. Precisava tirá-los dali por uns quinze ou vinte minutos, só isso. O que poderia dizer? Qualquer coisa menos a verdade, supôs. Quando chegou ao grupo que conversava e tocou com delicadeza o braço de Percy Marquand, ainda não sabia o que iria dizer. Percy se virou, reconheceu-o, sorriu e apertou sua mão. – Pessoal! – falou para os convivas à sua volta. – Venham conhecer um Viajante da Liberdade! Babe Lee segurou o braço de George com as duas mãos, como se temesse que alguém fosse roubá-lo. – Você é um herói, George – falou. Foi nessa hora que ele atinou com o que deveria dizer. – Sr. Marquand, Srta. Lee, eu trabalho para Bobby Kennedy agora e ele gostaria de conversar alguns minutos com vocês sobre direitos civis. Posso levá-los até ele? – É claro – respondeu Percy, e poucos segundos depois os três já estavam fora do salão. George se arrependeu na mesma hora do que acabara de dizer. Com o coração aos pulos, conduziu-os até a Ala Oeste. Como Bobby iria reagir? Poderia dizer Que droga, não vai dar, estou sem tempo. Se houvesse um incidente constrangedor, a culpa seria sua. Por que não tinha ficado de bico calado? – Almocei com Verena hoje – falou, para puxar papo. – Ela está adorando o emprego em Atlanta – disse Babe Lee. – A Conferência da Liderança Cristã do Sul é uma organização pequena, mas está fazendo coisas incríveis. – O Dr. King é um grande homem – comentou Percy. – De todos os líderes de direitos civis que já conheci, é o mais impressionante. Eles chegaram à Sala do Gabinete e entraram. A meia dúzia de homens lá dentro estava sentada em uma das extremidades da mesa comprida, conversando; alguns fumavam. Todos olharam espantados para os recém-chegados. George localizou Bobby e observou sua expressão: ele parecia intrigado e irritado.
– Bobby, você conhece Percy Marquand e Babe Lee – falou. – Eles ficariam felizes em conversar alguns minutos conosco sobre direitos civis. Por instantes, o semblante de Bobby escureceu de raiva. George se deu conta de que era a segunda vez no mesmo dia que surpreendia o chefe com uma visita indesejada. Mas então o secretário sorriu. – Que privilégio! – falou. – Sentem-se, amigos, e obrigado por terem apoiado a campanha eleitoral do meu irmão. Por alguns instantes, George sentiu alívio. Não haveria constrangimento. Bobby tinha acionado seu botão de charme automático. Pediu as opiniões de Percy e de Babe Lee e falou com franqueza sobre as dificuldades que os Kennedy estavam tendo com os democratas sulistas no Congresso. O casal ficou lisonjeado. Alguns minutos depois, o presidente entrou na sala. Apertou a mão de Percy e Babe, em seguida pediu a Dave Powers para acompanhá-los de volta à festa. Assim que a porta se fechou atrás deles, Bobby se virou para George. – Nunca mais faça isso comigo! Sua expressão revelava a força de sua fúria contida. George viu Dennis Wilson reprimir um sorriso. – Quem você pensa que é, porra? – explodiu Bobby. George pensou que ele fosse lhe bater. Equilibrou-se na parte da frente dos pés, pronto para se esquivar de um soco. Desesperado, falou: – O presidente queria que eles saíssem do salão! Não queria ser fotografado com Percy e Babe. Bobby olhou para o irmão mais velho, que assentiu. – Tive trinta segundos para pensar em um pretexto que não fosse ofendê-los. Inventei que o senhor queria conhecê-los. E deu certo, não foi? Eles não ficaram ofendidos... Na verdade, acham que receberam tratamento VIP! – É verdade, Bob – disse o presidente. – George nos tirou de uma sinuca. – Queria garantir que não perdêssemos o apoio deles na campanha da reeleição – falou George. Bobby ficou sem ação durante alguns segundos, enquanto digeria a informação. – Quer dizer que você disse aos dois que eu queria falar com eles só para deixá-los de fora das fotos com o presidente? – Isso mesmo – confirmou George. – Foi um raciocínio bem sagaz – comentou o presidente. A expressão de Bobby se modificou. Depois de alguns instantes, ele começou a rir. O irmão o imitou, e então os outros homens na sala puseram-se a rir também. Bobby passou o braço em volta dos ombros de George. O rapaz ainda estava abalado. Tivera medo de ser demitido. – Georgie, meu garoto, você é um de nós! – exclamou Bobby.
George percebeu que acabara de ser aceito no círculo íntimo dos poderosos. Aliviado, relaxou os ombros. Não sentia tanto orgulho quanto poderia ter sentido. Havia bolado uma farsa mambembe e ajudado o presidente a ser condescendente com o preconceito racial. Sua vontade era lavar as mãos. Mas então viu a raiva na expressão de Dennis Wilson e sentiu-se melhor.
CAPÍTULO DEZ
Naquele mês de agosto, Rebecca foi convocada pela segunda vez à sede da polícia secreta. Perguntou-se, temerosa, o que a Stasi poderia querer dessa vez. Eles já tinham arruinado sua vida: ela fora enganada para fazer um casamento que era uma farsa e agora não conseguia arrumar emprego, decerto porque eles estavam ordenando às escolas que não a contratassem. O que mais poderiam fazer com ela? Não poderiam prendê-la só por ter sido sua vítima. Mas a verdade é que podiam fazer o que quisessem. Ela pegou um ônibus para cruzar Berlim; fazia calor. A nova sede da Stasi era tão feia quanto a organização ali sediada: uma caixa retilínea de concreto para pessoas cuja mente era feita apenas de ângulos retos. Novamente, ela subiu no elevador acompanhada e foi conduzida pelos corredores pintados em um tom feio de amarelo, mas dessa vez foi levada para uma sala diferente. Ali, à sua espera, encontrou o marido, Hans. Ao vê-lo, seu temor foi substituído por uma raiva ainda mais potente. Embora ele tivesse o poder de lhe fazer mal, ela estava furiosa demais para se curvar diante dele. Hans estava usando um terno cinza-azulado que ela não conhecia. Tinha uma sala grande, com duas janelas e móveis novos e modernos: era mais importante na organização do que ela supusera. Como precisava de tempo para decidir como se comportar, ela falou: – Imaginava que o sargento Scholz fosse me receber. Hans olhou para o outro lado. – Ele não tinha talento para trabalhar com segurança. Rebecca pôde ver que Hans estava escondendo alguma coisa. Provavelmente Scholz fora demitido, ou quem sabe rebaixado a agente de trânsito. – Imagino que ele tenha cometido um erro ao me interrogar aqui, e não na delegacia do meu bairro. – Ele não deveria ter interrogado você e ponto final. Sente-se. Hans apontou para uma cadeira em frente à sua grande e feia escrivaninha. A cadeira feita de tubos metálicos e plástico duro cor de laranja fora projetada para fazer as vítimas se sentirem ainda mais desconfortáveis, pensou Rebecca. Sua fúria reprimida lhe deu forças para desafiar Hans. Em vez de se sentar, ela foi até a janela e olhou para o estacionamento. – Você perdeu seu tempo, não foi? – indagou. – Teve todo aquele trabalho para vigiar minha família, mas não encontrou sequer um espião ou sabotador. – Ela se virou para ele. – Seus chefes devem estar bem bravos com você. – Pelo contrário – retrucou ele. – Essa operação é considerada uma das mais bemsucedidas já conduzidas pela Stasi.
Rebecca não conseguia imaginar como isso poderia ser possível. – Vocês não podem ter descoberto nada muito interessante. – Minha equipe produziu um gráfico que mostra todos os social-democratas da Alemanha Oriental e os vínculos entre eles – declarou Hans, orgulhoso. – E a informação-chave foi conseguida na sua casa. Seus pais conhecem todos os reacionários mais importantes, e muitos os visitaram. Rebecca franziu a testa. Era verdade que a maioria das pessoas que ia à sua casa era social-democrata; nada mais natural. – Mas são só amigos – disse ela. Hans deixou escapar uma risada curta e zombeteira. – Só amigos! – arremedou. – Por favor, eu sei que você não é lá muito inteligente... você mesma disse isso várias vezes quando vivíamos juntos. Mas tampouco é totalmente desmiolada. Ocorreu a Rebecca que Hans e todos os agentes da polícia secreta eram obrigados a acreditar, ou pelo menos a fingir que acreditavam, em fantásticas conspirações contra o governo. Caso contrário, seu trabalho era uma perda de tempo. Assim, Hans havia construído uma rede imaginária de social-democratas baseada na casa da família Franck, todos conspirando para derrubar o governo comunista. Quem dera fosse verdade. – É claro que o plano nunca foi me casar com você – continuou Hans. – Tínhamos planejado só um flerte, o suficiente para eu poder entrar na casa. – O meu pedido de casamento deve ter sido um problema para vocês. – Nosso projeto estava indo bem demais. As informações que eu estava obtendo eram cruciais. Cada pessoa que eu via na sua casa nos conduzia a mais social-democratas. Se eu recusasse o seu pedido, essa fonte iria secar. – Que coragem a sua – disse Rebecca. – Você deve estar orgulhoso. Ele a encarou. Por alguns instantes, ela não conseguiu interpretar sua expressão. Algo estava acontecendo na mente dele, e ela não sabia o quê. Ocorreu-lhe que Hans talvez quisesse tocá-la ou lhe dar um beijo. O pensamento lhe causou um arrepio. Hans então balançou a cabeça como quem tenta clarear as ideias. – Nós não estamos aqui para falar sobre o casamento – retrucou ele, irritado. – Então por que estamos aqui? – Você causou um incidente na central de empregos. – Incidente? Perguntei ao homem na minha frente na fila quanto tempo fazia que ele estava desempregado. A mulher do outro lado do balcão se levantou e começou a gritar “Não existe desemprego nos países comunistas!” com uma voz esganiçada. Eu olhei para a fila à minha frente e atrás de mim e ri. Isso é um incidente? – Você teve um acesso de riso e se recusou a parar, depois foi expulsa do prédio. – É verdade que eu não consegui parar de rir. O que ela disse foi tão absurdo...
– Não foi absurdo! – Hans extraiu um cigarro de um maço de f6. Como todos os homens truculentos, ficava nervoso quando alguém o enfrentava. – Ela estava certa. Não há desempregados na Alemanha Oriental. O comunismo resolveu o problema do desemprego. – Por favor, não comece – pediu Rebecca. – Você vai me fazer rir de novo e serei expulsa deste prédio também. – O seu sarcasmo não vai adiantar. Ela olhou para uma foto emoldurada na parede na qual Hans apertava a mão de Walter Ulbricht, o líder da Alemanha Oriental. Ulbricht era careca e usava bigode e um cavanhaque pontudo: a semelhança com Lênin era levemente engraçada. – O que Ulbricht estava dizendo? – quis saber Rebecca. – Estava me dando os parabéns pela promoção a capitão. – Outra recompensa por ter enganado cruelmente a sua mulher. Mas me diga, se não estou desempregada, qual é a minha situação? – Você está sob investigação por ser uma parasita social. – Que absurdo! Eu trabalho sem parar desde que me formei. Oito anos sem tirar nenhum dia por motivo de doença. Fui promovida e recebi responsabilidades suplementares, entre elas a supervisão de novos professores. Aí, um belo dia, descubro que meu marido é um espião da Stasi e logo depois sou mandada embora. Desde então, fiz seis entrevistas de emprego, e em todas elas a escola se mostrou desesperada para que eu começasse o quanto antes. Apesar disso, em todas as vezes a escola me escreveu logo depois dizendo que não podia me oferecer a vaga, sem conseguir me dar nenhum motivo para isso. Você sabe por quê? – Ninguém quer você. – Todo mundo me quer. Eu sou uma boa professora. – Você é ideologicamente suspeita. Seria má influência para jovens suscetíveis. – Eu tenho uma recomendação excelente do meu último patrão. – De Bernd Held, não é? Ele também está sendo investigado por ser ideologicamente suspeito. Rebecca sentiu um arrepio de medo no fundo do peito. Tentou manter a expressão neutra. Que terrível seria se o bondoso e capaz Bernd tivesse problemas por causa dela. Preciso avisá-lo, pensou. Mas não conseguiu esconder de Hans o que estava sentindo. – Ficou abalada, não foi? Sempre tive minhas desconfianças. Você gostava dele. – Ele queria ter um caso comigo, mas não quis trair você. Imagine só. – Eu teria descoberto. – Mas em vez disso fui eu que descobri você. – Eu estava cumprindo o meu dever. – Quer dizer que está me impedindo de conseguir um emprego e me acusando de parasitismo social. O que espera que eu faça? Que vá para o Ocidente? – Emigrar sem permissão é crime.
– Mas mesmo assim muitas pessoas emigram! Ouvi dizer que já são quase mil por dia. Professores, médicos, engenheiros, até policiais. Ah! – Ela teve um lampejo. – Foi isso que aconteceu com o sargento Scholz? Hans se esquivou da pergunta. – Não é da sua conta. – Dá para ver na sua cara. Quer dizer que Scholz foi para o Ocidente. Por que você acha que toda essa gente respeitável está virando criminosa? Será porque querem viver em um país que tem eleições livres, essas coisas? Zangado, Hans levantou a voz: – Eleições livres nos deram Hitler! É isso que essa gente quer? – Talvez eles não gostem de morar em um país no qual a polícia secreta pode fazer o que quiser. Você pode imaginar como isso deixa as pessoas nervosas. – Só as que têm segredos condenáveis! – E qual é o meu segredo, Hans? Vamos lá, você deve saber. – Você é uma parasita social. – Quer dizer que você primeiro me impede de arrumar um emprego e depois ameaça me prender por não ter um emprego. Suponho que eu seria mandada para um campo de trabalho, não é? Aí eu teria um emprego, só que não seria remunerada. Eu amo o comunismo, ele é tão lógico! Me pergunto por que as pessoas ficam tão desesperadas para escapar dele. – Sua mãe me disse muitas vezes que jamais emigraria para o Ocidente. Para ela seria como fugir. Rebecca se perguntou aonde ele estava querendo chegar. – E daí? – Se você cometer o crime de emigração ilegal, nunca mais poderá voltar. Rebecca entendeu o que estava por vir, e o desespero a sufocou. – Você nunca mais veria sua família – disse Hans, triunfante.
Arrasada, Rebecca saiu do prédio da Stasi e parou no ponto de ônibus. Por mais que pensasse na questão, via-se forçada a perder a família ou a liberdade. Cabisbaixa, pegou o ônibus até a escola em que havia trabalhado. Estava despreparada para a nostalgia que a atingiu como um soco quando entrou lá: o barulho das conversas dos alunos, o cheiro de pó de giz e produtos de limpeza, os quadros de avisos, as chuteiras de futebol e as placas dizendo “Ande, não corra”. Percebeu quanto era feliz como professora. Era um trabalho de importância vital e ela o fazia muito bem. Não conseguia suportar a ideia de jamais voltar a lecionar. Encontrou Bernd na sala do diretor, vestido com um terno de camurça preto; o tecido estava gasto, mas a cor lhe favorecia. Seu rosto se acendeu de felicidade quando ele a viu
abrir a porta. – Virou diretor? – perguntou ela, embora já pudesse adivinhar a resposta. – Nunca vai acontecer – respondeu ele. – Mas mesmo assim assumi o cargo e estou adorando. Enquanto isso, Anselm, nosso chefe, agora é diretor de uma grande escola em Hamburgo e está ganhando o dobro do salário. E você? Sente-se. Rebecca se sentou e lhe contou sobre as entrevistas de emprego. – É a vingança de Hans. Eu nunca deveria ter atirado aquela maldita maquete pela janela. – Talvez não seja isso – ponderou Bernd. – Já vi essa situação antes. Paradoxalmente, a pessoa odeia aquela a quem fez mal. Acho que é porque a vítima é um eterno lembrete de seu comportamento vergonhoso. Bernd era muito inteligente. Rebecca sentia saudades dele. – Acho que infelizmente Hans talvez odeie você também – falou. – Ele me disse que você estava sendo investigado como ideologicamente suspeito por ter me escrito uma carta de recomendação. – Ai, droga. Ele esfregou a cicatriz na testa, sempre um sinal de que estava preocupado. Envolver-se com a Stasi nunca trazia um final feliz. – Desculpe. – Não precisa se desculpar. Estou feliz por ter escrito a carta. Escreveria de novo. Alguém precisa dizer a verdade nesta porcaria de país. – De algum jeito Hans também descobriu que você... sentia atração por mim. – E ele está com ciúmes? – Difícil de imaginar, não é? – Nem um pouco. Nem mesmo um espião poderia deixar de se apaixonar por você. – Não diga bobagem. – Foi por isso que você veio aqui? Para me alertar? – E para dizer... – Mesmo com Bernd, ela precisava ser discreta. – Para dizer que nós provavelmente não vamos nos ver por algum tempo. – Ah... – Ele meneou a cabeça; já tinha entendido. As pessoas raramente diziam que estavam indo para o Ocidente. Era possível ser preso pelo simples fato de planejar fazer isso. E quem descobrisse que você pretendia emigrar estaria cometendo um crime caso não informasse à polícia. Portanto, ninguém, exceto os parentes mais próximos, queria ser culpado de saber uma coisa dessas. Rebecca se levantou. – Obrigada pela sua amizade, então. Bernd deu a volta na mesa e a segurou pelas duas mãos. – Não, quem agradece sou eu. E boa sorte. – Para você também. Ela percebeu que, em seu inconsciente, já tinha tomado a decisão de emigrar para o
Ocidente; e era nisso que estava pensando, surpresa e nervosa, quando de repente Bernd inclinou a cabeça e a beijou. Ela não esperava por isso. Foi um beijo delicado. Ele deixou os lábios encostarem nos dela, mas sem abrir a boca. Rebecca fechou os olhos. Depois de um ano de casamento falso, era bom saber que alguém realmente a considerava desejável, ou mesmo digna de ser amada. Teve o impulso de envolvê-lo nos braços, mas se reprimiu. Seria loucura começar um relacionamento fadado ao fracasso. Depois de alguns segundos, afastou-se. Sentia-se à beira das lágrimas, e não quis que ele a visse chorando. – Adeus – conseguiu dizer. Então virou as costas e saiu da sala depressa.
Decidiu que iria embora em dois dias, domingo de manhã bem cedo. Todos se levantaram para se despedir. Ela não conseguiu comer nada no café da manhã. Estava nervosa demais. – Provavelmente devo ir para Hamburgo – falou, fingindo animação. – Anselm Weber agora é diretor de uma escola na cidade, e tenho certeza de que vai me contratar. Vestida com um roupão de seda roxa, sua avó Maud disse: – Você conseguiria emprego em qualquer lugar da Alemanha Ocidental. – Mas vai ser bom conhecer pelo menos uma pessoa na cidade – falou Rebecca, desolada. – Parece que em Hamburgo a cena musical é ótima – comentou Walli. – Assim que terminar o colégio irei encontrar você lá. – Se você terminar a escola, vai ter que trabalhar – disse Werner para o filho em tom de sarcasmo. – Vai ser uma experiência nova para você. – Nada de brigas hoje – pediu Rebecca. Seu pai lhe entregou um envelope com dinheiro. – Assim que chegar ao outro lado, pegue um táxi – instruiu. – Vá direto para Marienfelde. – Havia um centro para refugiados nessa localidade ao sul de Berlim, perto do aeroporto de Tempelhof. – Dê logo entrada nos papéis da emigração. Com certeza vai ter de esperar horas na fila, talvez dias. Assim que estiver com tudo em ordem, vá até a fábrica. Aí eu abro uma conta bancária para você na Alemanha Ocidental, essas coisas. Carla estava aos prantos. – Nós vamos nos ver – falou Rebecca. – Você pode pegar um avião até Berlim Ocidental sempre que quiser, e podemos simplesmente atravessar a fronteira a pé para encontrá-la. Faremos piqueniques à beira do Wannsee. Rebecca estava tentando não chorar. Guardou o dinheiro em uma pequena bolsa a tiracolo que era sua única bagagem. Qualquer outro volume poderia levá-la a ser detida pelos Vopos na fronteira. Queria ficar mais um pouco, mas teve medo de perder a coragem. Beijou e abraçou cada um de seus parentes: a avó, o pai adotivo, o irmão e a irmã, e por último Carla,
a mulher que havia salvado sua vida e a criara como filha. Não era sua mãe de verdade, mas justamente por isso era ainda mais preciosa. Então, com os olhos marejados, saiu de casa. A manhã de verão estava ensolarada e não havia uma só nuvem no céu. Ela tentou se manter otimista: iria começar uma vida nova, longe da soturna repressão de um regime comunista. E em breve, de uma forma ou de outra, tornaria a ver sua família. Foi andando depressa pelas ruas sinuosas do antigo centro da cidade. Passou pelo vasto pátio do hospital universitário Charité e pegou a Invaliden Strasse. À sua esquerda ficava a ponte de Sandkrug, pela qual os carros atravessavam o canal de Berlim-Spandau até o lado ocidental. Só que nesse dia a ponte estava interditada. No início, ela não entendeu muito bem o que estava vendo. Havia uma fila de carros parada antes da ponte. Atrás deles, um aglomerado de pessoas em pé observava alguma coisa. Talvez tivesse havido algum acidente na ponte. À sua direita, porém, na Platz vor dem Neuen Tor, uns vinte ou trinta soldados alemães-orientais estavam parados sem fazer nada. Atrás deles, dois tanques soviéticos. Intrigante e assustador. Ela abriu caminho pela multidão. Agora podia ver qual era o problema. Uma cerca grosseira de arame farpado tinha sido erguida quase no final da ponte. Um pequeno buraco nessa cerca era vigiado por policiais que pareciam não deixar ninguém passar. Rebecca sentiu-se tentada a perguntar o que estava acontecendo, mas não quis chamar atenção para si. Não estava muito longe da estação da Friedrichstrasse, e de lá poderia pegar o metrô direto até Marienfelde. Pegou a direção sul, agora com o passo mais apertado, e ziguezagueou por entre uma série de prédios universitários até o metrô. Só que lá também havia alguma coisa errada. Várias dezenas de pessoas estavam amontoadas junto à entrada da estação. Aos empurrões, Rebecca conseguiu chegar até a frente e leu um aviso pregado na parede que informava apenas o óbvio: a estação estava fechada. No alto da escada, uma fila de policiais armados formava uma barreira. Ninguém podia descer até as plataformas. Começou a ficar com medo. Talvez fosse coincidência os dois primeiros pontos que escolhera para atravessar estarem bloqueados. Mas talvez não. Havia 81 locais em que as pessoas podiam passar de Berlim Oriental para Berlim Ocidental. O mais próximo dali era o Portão de Brandemburgo, onde a larga Unter den Linden atravessava o arco monumental e adentrava o parque Tiergarten. Ela pegou a Friedrichstrasse na direção sul. Assim que dobrou a oeste na Unter den Linden, soube que estava em apuros. Aquele ponto também estava tomado por tanques e soldados. Havia centenas de pessoas reunidas em frente ao famoso portão. Chegando à frente da multidão, Rebecca viu outra cerca de arame farpado
sustentada por cavaletes de madeira e protegida por policiais da Alemanha Oriental. Rapazes parecidos com Walli – jaqueta de couro, calças justas e penteado ao estilo Elvis – gritavam insultos de uma distância segura. Do lado ocidental, jovens parecidos também gritavam, irados, e ocasionalmente atiravam pedras na polícia. Rebecca olhou com mais atenção e viu que os vários agentes de segurança pública – Vopos, policiais de fronteira e milicianos operários de fábrica – abriam buracos na rua para fincar altas colunas de concreto e prendiam arame farpado de coluna em coluna para construir uma estrutura mais permanente. Permanente, pensou, e seu ânimo despencou. – Isso está acontecendo por toda parte? – perguntou a um homem ao seu lado. – Essa cerca? – Por toda parte – respondeu ele. – Desgraçados! O regime da Alemanha Oriental tinha feito aquilo que todos diziam ser impossível: construíra um muro que cortava Berlim ao meio. E Rebecca estava do lado errado.
CAPÍTULO ONZE
Foi com certa cautela que George almoçou no Electric Diner com Larry Mawhinney. Não tinha certeza do que levara Larry a marcar aquele encontro, mas a curiosidade o fizera concordar. Os dois tinham a mesma idade e empregos parecidos: Larry era assessor no gabinete do general Curtis LeMay, chefe do Estado-Maior da Força Aérea. Mas os seus respectivos chefes tinham opiniões divergentes: os irmãos Kennedy não confiavam nos militares. Larry estava usando um uniforme de tenente da Força Aérea. Tinha os traços característicos de um soldado: a barba bem-feita, cabelos cortados à escovinha, a gravata presa com um nó bem apertado e os sapatos engraxados até ficarem reluzentes. – O Pentágono detesta segregação – disse ele. George arqueou as sobrancelhas. – É mesmo? Pensei que o Exército tradicionalmente relutasse em dar armas a negros. Mawhinney ergueu a mão em um gesto conciliador. – Entendo o que você quer dizer. Mas, em primeiro lugar, essa atitude foi sempre superada pela necessidade: desde a Guerra da Independência, os negros combateram em todos os conflitos nacionais. Em segundo lugar, isso faz parte do passado. O Pentágono hoje precisa de homens de cor nas Forças Armadas. E não queremos nem as despesas nem a ineficiência da segregação: dois conjuntos de sanitários, duas alas de alojamentos, preconceito e ódio entre homens que supostamente deveriam estar lutando lado a lado. – Muito bem, estou convencido – falou George. Larry cortou um pedaço de seu sanduíche de queijo quente e George comeu uma garfada de seu chili con carne. – Quer dizer que Kruschev conseguiu o que queria em Berlim – comentou Larry. George sentiu que aquele era o verdadeiro tema do almoço. – Graças a Deus não vamos ter de entrar em guerra contra os soviéticos – falou. – Kennedy amarelou – disse Larry. – O regime da Alemanha Oriental estava à beira do colapso. Se o presidente tivesse tido uma atitude mais firme, poderia ter havido uma contrarrevolução. Mas o Muro estancou o derrame de refugiados para o Ocidente, e agora os soviéticos podem fazer o que quiserem em Berlim Oriental. Nossos aliados na Alemanha Ocidental estão revoltados. – O presidente evitou a Terceira Guerra Mundial! – disse George, indignado. – E o preço foi deixar os soviéticos aumentarem sua influência. Não foi exatamente uma vitória. – É isso que o Pentágono acha? – Em resumo, sim.
Claro, pensou George com irritação. Agora ele entendia: Mawhinney estava ali para defender o ponto de vista do Pentágono na esperança de conquistar seu apoio. Eu deveria me sentir lisonjeado, pensou. Isso mostra que as pessoas agora me consideram parte do círculo íntimo de Bobby. Só que ele não iria escutar um ataque ao presidente Kennedy sem revidar. – Imagino que não devesse esperar nada diferente do general LeMay. O apelido dele não é LeMay das Bombas? Mawhinney franziu a testa. Se achava engraçado o apelido de seu chefe, não iria demonstrar. Na opinião de George, o autoritário LeMay, sempre com um charuto na boca, merecia ser alvo de chacota. – Acho que ele um dia falou que, se houvesse uma guerra nuclear e no final sobrassem dois americanos e um russo, nós teríamos vencido. – Nunca o ouvi dizer nada desse tipo. – Parece que o presidente Kennedy respondeu: “É bom você torcer para que esses dois americanos sejam de sexos diferentes.” – Nós precisamos ser fortes! – exclamou Mawhinney, começando a se deixar irritar. – Já perdemos Cuba, o Laos e Berlim Oriental, e agora corremos o risco de perder o Vietnã. – O que você imagina que possamos fazer em relação ao Vietnã? – Mandar o Exército – respondeu Larry sem pestanejar. – Já não temos milhares de consultores militares por lá? – Não é suficiente. O Pentágono já pediu várias vezes ao presidente para mandar tropas terrestres. Mas ele não parece ter coragem para tanto. O comentário incomodou George; era uma injustiça. – O que não falta ao presidente é coragem – disparou. – Então por que ele não ataca os comunistas no Vietnã? – Porque não acha que possamos ganhar. – Ele deveria escutar os generais experientes, que entendem do assunto. – Será? Foram eles que o aconselharam a apoiar aquela invasão idiota da Baía dos Porcos. Se o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas tem experiência e entende do assunto, como é que não disse ao presidente que uma invasão por exilados cubanos estava fadada ao fracasso? – Nós avisamos a ele para mandar cobertura aérea... – Larry, me desculpe, mas a ideia era justamente evitar o envolvimento dos americanos. Apesar disso, assim que as coisas começaram a dar errado, o Pentágono quis despachar os fuzileiros navais. Os irmãos Kennedy estão desconfiados de que foi fogo amigo: vocês os atraíram para uma invasão de exilados fadada ao fracasso porque queriam forçá-los a despachar tropas americanas. – Isso não é verdade.
– Pode ser, mas o presidente acha que agora vocês estão tentando atraí-lo para o Vietnã usando o mesmo método. E está decidido a não se deixar enganar uma segunda vez. – Certo, então ele está implicando conosco por causa da Baía dos Porcos. Sério, George, isso é razão suficiente para deixar o Vietnã virar comunista? – Bem, temos aqui um típico desacordo de cavalheiros. Mawhinney largou o garfo e a faca. – Vai querer sobremesa? Percebeu que estava perdendo tempo: George jamais se aliaria ao Pentágono. – Não, obrigado – respondeu George. Ele estava trabalhando com Bobby para lutar por justiça, para que seus filhos pudessem crescer como cidadãos americanos com direitos iguais. Alguma outra pessoa teria de combater o comunismo na Ásia. A expressão de Mawhinney mudou e ele acenou para o outro lado do restaurante. George olhou para trás por cima do ombro e teve um choque. A pessoa para quem Mawhinney estava acenando era Maria Summers. Ela não o viu. Já estava se virando de volta para sua companhia, uma moça branca mais ou menos da mesma idade. – Aquela é Maria Summers? – indagou George, sem acreditar. – É. – Você a conhece? – Claro. Estudamos Direito juntos em Chicago. – O que ela está fazendo aqui em Washington? – É uma história engraçada. Originalmente ela foi recusada para um cargo na assessoria de imprensa da Casa Branca. Só que a pessoa que eles escolheram não deu certo e ela era a segunda opção. George ficou animado. Maria estava em Washington, e para ficar! Decidiu falar com ela antes de sair do restaurante. Ocorreu-lhe que Mawhinney talvez pudesse lhe contar mais coisas. – Você saiu com ela na faculdade? – Não, ela só saía com caras negros, e não muitos. Tinha fama de ser um iceberg. George não levou o comentário muito a sério. Para alguns homens, qualquer moça que dissesse não era um iceberg. – Ela saía com alguém fixo? – Namorou um cara por mais ou menos um ano, mas ele a largou porque ela não quis transar. – Não me espanta – comentou George. – A família dela é bem rígida. – Como você sabe? – Fizemos a primeira Viagem da Liberdade juntos. Conversei um pouco com ela. – Ela é bonita.
– É, sim. A conta chegou e eles a dividiram. No caminho da saída, George parou na mesa de Maria. – Bem-vinda a Washington – falou. Ela abriu um sorriso caloroso. – Oi, George. Estava me perguntando quando iria esbarrar com você. – Oi, Maria – disse Larry. – Eu estava contando para George como você era chamada de iceberg lá na faculdade, em Chicago. – Ele riu. Era uma provocação tipicamente masculina, nada fora do comum, mas mesmo assim Maria corou. Larry saiu do restaurante, mas George se demorou um pouco mais. – Sinto muito por ele ter dito isso. E estou constrangido por ter escutado. Foi bem grosseiro. – Obrigada. – Maria indicou a outra moça. – Esta é Antonia Capel. Ela também é advogada. Antonia era uma mulher magra e enérgica, com os cabelos puxados para trás em um penteado severo. – Prazer – disse George. – George quebrou o braço no Alabama, me protegendo de um segregacionista que quis me atacar com um pé de cabra – explicou Maria. Antonia assumiu uma expressão impressionada. – Você é um cavalheiro de verdade – comentou. George viu que as moças estavam prontas para ir embora: a conta sobre um pires em cima da mesa estava coberta por algumas cédulas de dinheiro. – Posso acompanhar você de volta até a Casa Branca? – perguntou a Maria. – Claro – respondeu ela. – Tenho de passar correndo na farmácia – disse Antonia. Os três saíram para o agradável ar de outono da capital. Antonia se despediu com um aceno e George e Maria tomaram o rumo da Casa Branca. Enquanto atravessavam a Pennsylvania Avenue, ele a examinou de soslaio. Ela usava uma capa de chuva estilosa por cima de um suéter branco de gola rulê, o traje de uma moça séria que trabalhava com política, mas não conseguia esconder o sorriso caloroso. Era bonita, tinha o nariz e o queixo pequenos, grandes olhos castanhos e lábios carnudos sensuais. – Eu estava discordando de Mawhinney sobre o Vietnã – comentou George. – Acho que ele tinha esperanças de me convencer para atingir Bobby indiretamente. – Tenho certeza que sim – respondeu Maria. – Mas o presidente não vai dar o braço a torcer para o Pentágono em relação a esse assunto. – Como você sabe? – Kennedy vai fazer um pronunciamento hoje à noite dizendo que há limites para o que podemos conquistar em matéria de política externa. Não podemos reparar todos os males nem
reverter todas as adversidades. Acabei de escrever o release desse pronunciamento para a imprensa. – Que bom que ele vai se manter firme. – George, você não ouviu o que eu disse: eu escrevi um release para a imprensa! Não entende o quanto isso é raro? Em geral quem escreve releases são homens, as mulheres só datilografam. George sorriu. – Parabéns. Sentia-se feliz por estar com ela, e os dois haviam retomado a relação de amizade. – Na verdade vou saber o que eles acharam quando voltar para o escritório. E lá na Justiça, quais as novidades? – Parece que nossas Viagens da Liberdade deram mesmo algum resultado – respondeu George, animado. – Em breve todos os ônibus interestaduais vão ter uma placa dizendo: “A ocupação deste veículo não terá discriminação de raça, cor, credo ou origem nacional.” As mesmas palavras serão impressas nas passagens. – Estava orgulhoso da sua conquista. – Que tal? – Muito bom. – Mas então Maria fez a pergunta mais importante: – E a lei vai ser aplicada? – Depende de nós, na Justiça, e estamos tentando com mais afinco do que nunca. Já nos opusemos várias vezes às autoridades do Mississippi e do Alabama. E um número surpreendente de cidades em outros estados está simplesmente acatando a lei. – É difícil acreditar que estejamos mesmo vencendo. Os segregacionistas sempre parecem ter mais um truque sujo escondido na manga. – Nossa próxima campanha é no alistamento eleitoral. Martin Luther King quer dobrar o número de eleitores negros no Sul até o final do ano. – O que precisamos mesmo é de uma nova lei de direitos civis que torne difícil para os estados sulistas desobedecer à constituição. – Estamos preparando isso. – Está me dizendo então que Bobby Kennedy apoia os direitos civis? – Caramba, não! Um ano atrás, essa questão nem sequer estava na agenda dele. Mas Bobby e o presidente detestaram aquelas fotos da violência dos brancos sulistas. Elas projetaram uma imagem ruim dos Kennedy nas manchetes de jornal do mundo todo. – E a política externa é a sua maior preocupação. – Exato. George quis chamá-la para sair, mas se conteve. Iria terminar com Norine Latimer quanto antes; agora que Maria estava em Washington, era inevitável. Mas sentia que devia dizer a Norine que seu relacionamento havia chegado ao fim antes de chamar Maria para sair. Qualquer outra coisa iria parecer desonesta. E não demoraria muito: ele veria Norine em poucos dias.
Os dois entraram na Ala Oeste. Rostos negros na Casa Branca eram raros o suficiente para as pessoas os encararem. Foram até o escritório da assessoria de imprensa. George se espantou ao ver que este não passava de uma salinha abarrotada de mesas. Meia dúzia de pessoas trabalhava concentrada em máquinas de escrever cinza da Remington e telefones com várias fileiras de luzinhas piscantes. De uma sala contígua vinha o murmúrio dos teletipos pontuado pelas sinetas que alertavam para mensagens particularmente importantes. Havia também uma sala interna, que George supôs que pertencesse ao assessor de imprensa Pierre Salinger. Todos pareciam muito concentrados, e ninguém conversava nem olhava pela janela. Maria lhe mostrou sua mesa e apresentou-lhe a mulher que datilografava na máquina ao lado, uma bela ruiva de 30 e poucos anos. – George, essa é minha amiga Nelly Fordham. Nelly, por que está todo mundo tão calado? Antes de Nelly conseguir responder, Salinger saiu de sua sala, um homem baixinho e gorducho vestido com um terno de alfaiataria em estilo europeu. Junto com ele estava Jack Kennedy. O presidente sorriu para todo mundo, meneou a cabeça para George e disse a Maria: – Você deve ser Maria Summers. Seu release ficou bom, claro e vigoroso. Parabéns. Maria corou de prazer. – Obrigada, presidente. Kennedy não parecia estar com pressa. – O que você fazia antes de vir para cá? – Fez a pergunta como se não houvesse nada mais interessante no mundo. – Estudava Direito em Chicago. – E está gostando da assessoria? – Ah, estou sim, é muito interessante. – Bem, obrigado pelo seu bom trabalho. Continue assim. – Vou me esforçar ao máximo. O presidente saiu, e Salinger foi atrás. George olhou para Maria com um ar de quem acha graça. Ela parecia atordoada. Depois de alguns segundos, Nelly Fordham falou: – É assim mesmo. Durante um minuto, você foi a mulher mais linda do mundo. Maria olhou para a colega. – É. Foi exatamente assim que eu me senti.
Tirando uma certa solidão, Maria era feliz. Adorava trabalhar na Casa Branca, cercada por pessoas inteligentes e sinceras que só queriam tornar o mundo um lugar melhor. Sentia que poderia conquistar muitas coisas
trabalhando no governo. Sabia que teria de lidar com o preconceito – tanto contra as mulheres quanto contra os negros –, mas acreditava que, com inteligência e determinação, poderia chegar lá. Sua família tinha tradição em superar os obstáculos. Seu avô, Saul Summers, fora a pé de Golgotha, sua cidade natal no Alabama, até Chicago. No caminho, fora preso por “indigência” e condenado a trinta dias de trabalho forçado em uma mina de carvão. Enquanto estava preso, vira um homem ser espancado até a morte pelos guardas por tentar fugir. Um mês depois, não foi solto e, ao reclamar, foi açoitado. Arriscando a própria vida, fugiu e finalmente conseguiu chegar a Chicago. Lá acabou se tornando pastor da Igreja Pentecostal de Belém. Agora, aos 80 anos, estava semiaposentado, mas ainda pregava de vez em quando. Daniel, pai de Maria, havia cursado o ensino superior básico e estudado Direito em uma universidade para negros. Em 1930, durante a Depressão, abrira um escritório de advocacia independente no bairro de South Side, onde ninguém tinha dinheiro sequer para comprar um selo de correio, quanto mais para pagar um advogado. Maria já o escutara relembrar muitas vezes como os clientes o remuneravam: bolos caseiros, ovos de galinhas criadas no quintal, um corte de cabelo gratuito, algum serviço de carpintaria no escritório. Quando o New Deal de Roosevelt finalmente começou a surtir efeito e a economia melhorou, ele já era o advogado negro mais badalado de Washington. Com uma história assim, Maria não tinha medo da adversidade. No entanto, sentia-se só. Todo mundo à sua volta era branco. Seu avô Summers costumava dizer: “Não há nada de errado com os brancos. Eles só não são negros.” Ela entendia o que o avô queria dizer. Os brancos não sabiam o que era “indigência”. De alguma forma, tinham esquecido o fato de que o Alabama continuara a mandar negros para campos de trabalhos forçados até 1927. Quando ela falava sobre essas coisas, as pessoas faziam cara de tristeza por alguns instantes e depois olhavam para o outro lado, e ela sabia que pensavam que ela estava exagerando. Os brancos ficavam entediados com negros que falavam sobre preconceito, como com doentes que recitam os próprios sintomas. Ficara encantada por tornar a encontrar George Jakes. Teria procurado por ele logo depois de chegar a Washington, mas uma moça recatada não corria atrás de homem, por mais charmoso que ele fosse; de todo modo, não teria sabido o que dizer. Gostava de George mais do que de qualquer outro rapaz que conhecera desde o término de seu namoro com Frank Baker, dois anos antes. Teria se casado com Frank se ele houvesse pedido, mas ele queria transar sem estar casado, e isso ela não aceitara. Quando George a acompanhou até a assessoria de imprensa, Maria teve certeza de que ele estava prestes a chamá-la para sair e ficou decepcionada quando isso não aconteceu. Maria dividia apartamento com duas outras moças negras, mas não tinha grande afinidade com elas. Ambas eram secretárias, interessadas sobretudo em moda e cinema. Ela estava acostumada a ser diferente. Não havia muitas negras durante seu ciclo básico na universidade, e no curso de Direito ela era a única. Agora, tirando faxineiras e cozinheiras,
era a única negra na Casa Branca. Não tinha do que reclamar, pois todos a tratavam bem, mas sentia-se só. Na manhã depois de esbarrar com George, estava estudando um discurso de Fidel Castro em busca de informações que a assessoria pudesse usar quando seu telefone tocou e uma voz de homem perguntou: – A senhorita gostaria de dar um mergulho? O sotaque de Boston era conhecido, mas por alguns instantes ela não conseguiu identificálo. – Quem está falando? – Dave. Era Dave Powers, o assessor pessoal do presidente, às vezes chamado de primeiro-amigo. Maria já havia falado com ele duas ou três vezes. Como a maioria das pessoas na Casa Branca, era amável e encantador. Mas nesse dia ela foi pega de surpresa. – Onde? – indagou. Ele riu. – Aqui na Casa Branca, claro. Ela lembrou que havia uma piscina na galeria oeste, entre a Casa Branca e a Ala Oeste. Nunca fora lá, mas sabia que tinha sido construída para o presidente Roosevelt. Ouvira dizer que Kennedy gostava de nadar pelo menos uma vez por dia, pois tinha problema nas costas e a água aliviava a pressão. – Vai ter outras garotas lá – acrescentou Dave. A primeira coisa em que Maria pensou foi nos cabelos. Praticamente todas as negras que trabalhavam fora usavam apliques ou perucas para o trabalho. Tanto negros quanto brancos concordavam que o aspecto natural dos cabelos dos negros simplesmente não era profissional. Nesse dia, Maria estava usando um penteado tipo colmeia, com um aplique cuidadosamente trançado nos próprios cabelos relaxados à base de produtos químicos para imitar a textura macia e lisa dos cabelos das brancas. Não era nenhum segredo: qualquer negra que a olhasse veria que ela estava de aplique. Mas um homem branco feito Dave jamais repararia numa coisa dessas. Como ela poderia ir à piscina? Se molhasse os cabelos, eles ficariam tão estragados que ela não conseguiria recuperá-los. Ficou encabulada demais para dizer qual era o problema, mas rapidamente pensou em uma desculpa: – Estou sem maiô. – Nós temos maiôs lá – retrucou Dave. – Passo para pegá-la ao meio-dia. Ele desligou. Maria olhou para o relógio. Eram dez para o meio-dia. O que ela iria fazer? Será que conseguiria entrar na água com cuidado, na parte rasa, e não
molhar os cabelos? Percebeu que tinha feito as perguntas erradas. O que realmente precisava saber era por que fora convidada e o que se esperava dela – e se o presidente estaria lá. Olhou para a colega da mesa ao lado. Nelly Fordham era solteira e trabalhava na Casa Branca havia dez anos. Já dera a entender que, anos antes, tivera uma decepção amorosa. Desde o início se mostrara solícita com Maria. Agora exibia um ar curioso. – Estou sem maiô? – repetiu. – Fui convidada para ir à piscina do presidente – explicou Maria. – Será que devo aceitar? – Claro! Contanto que me conte tudo o que aconteceu quando voltar. Maria baixou a voz: – Ele disse que vai ter outras garotas. Acha que o presidente vai estar lá? Nelly olhou em volta, mas ninguém estava ouvindo. – Jack Kennedy gosta de nadar rodeado por garotas bonitas? – perguntou. – Quem responder certo nem merece um prêmio. Maria ainda não tinha certeza se deveria ir. Então se lembrou de como Larry Mawhinney a tinha chamado de iceberg. O comentário a deixara magoada. Ela não era um iceberg. Continuava virgem aos 25 anos porque ainda não conhecera um homem a quem quisesse se entregar de corpo e alma, mas não era frígida. Dave Powers apareceu na porta e perguntou: – Vamos? – Ah, que se dane. Vamos – respondeu ela. Dave a conduziu pelos arcos em um dos lados do Roseiral até a entrada da piscina. Duas outras garotas chegaram ao mesmo tempo. Maria já as vira antes, sempre juntas: ambas eram secretárias da Casa Branca. Dave as apresentou: – Essas são Jennifer e Geraldine. Todo mundo as conhece como Jenny e Jerry. As moças levaram Maria até um vestiário onde havia uns dez ou mais trajes de banho pendurados em ganchos. Jenny e Jerry logo se despiram. Maria reparou que ambas tinham corpos esculturais. Não era sempre que via brancas peladas. Embora fossem louras, as duas tinham pelos pubianos pretos que formavam um triângulo perfeito. Maria imaginou se os teriam aparado com tesoura. Nunca havia pensado em fazer isso. Os trajes de banho eram todos maiôs inteiros de algodão. Maria rejeitou as cores mais vistosas e escolheu um modesto azul-marinho. Então seguiu Jenny e Jerry até a piscina. Em três dos lados, as paredes eram pintadas com cenas caribenhas, palmeiras e barcos a vela. A quarta parede era espelhada, e Maria espiou o próprio reflexo. Até que não era muito gorda, pensou, tirando a bunda grande demais. O azul-marinho ficava bem sobre sua pele marrom-escura. Reparou em uma mesa de bebidas e sanduíches em um dos lados da piscina, mas estava nervosa demais para comer. Sentado à beira da piscina, descalço e com as calças arregaçadas, Dave tinha os pés
mergulhados na água. Jenny e Jerry ficaram boiando na piscina, conversando e rindo. Maria sentou-se em frente a Dave e molhou os pés. A piscina estava morna feito um banho de banheira. Um minuto depois, o presidente apareceu, e o coração de Maria disparou. Jack Kennedy estava usando o habitual terno escuro com camisa branca e gravata fininha. Ficou parado na beira da piscina e sorriu para as moças. Maria sentiu um sopro da colônia cítrica 4711 que ele usava. – Vocês se importam se eu entrar também? – perguntou ele, como se a piscina fosse delas, e não sua. – Por favor, entre! – respondeu Jenny. Nem ela nem Jerry estavam surpresas com a sua presença, e Maria deduziu que aquela não era a primeira vez que nadavam com o presidente. Kennedy entrou no vestiário e saiu usando um calção de banho azul. Esguio e bronzeado, tinha ótima forma física para um homem de 44 anos, decerto por velejar tanto em Hyannis Port, Cape Cod, onde tinha casa de veraneio. Sentou-se na borda e entrou na água devagar, com um suspiro. Passou alguns minutos nadando. Maria se perguntou o que sua mãe diria. Sem dúvida não acharia adequado sua filha nadar com qualquer outro homem casado que não fosse o presidente. Mas nada de ruim poderia acontecer ali, em plena Casa Branca, na frente de Dave Powers, Jenny e Jerry. Ou poderia? O presidente nadou até onde ela estava sentada. – Como andam as coisas lá na assessoria, Maria? – indagou, como se fosse a pergunta mais importante do mundo. – Bem, obrigada, presidente. – Pierre é um bom chefe? – Muito bom. Todo mundo gosta dele. – Eu também gosto dele. Assim tão de perto, Maria podia ver as rugas nos cantos de seus olhos e da boca, e os fios grisalhos nos fartos cabelos castanhos arruivados. Os olhos não chegavam a ser azuis, constatou ela: estavam mais para avelã. Pensou que o presidente sabia que estava sendo estudado e não se importava. Talvez estivesse acostumado com aquilo. Talvez gostasse. Ele sorriu e perguntou: – E que tipo de trabalho você está fazendo? – Um misto de coisas. – Maria sentia-se muito lisonjeada. Talvez ele estivesse apenas sendo educado, mas parecia genuinamente interessado nela. – O que mais faço é pesquisar coisas para Pierre. Hoje de manhã passei o pente fino em um discurso de Fidel. – Antes você do que eu. Os discursos dele são intermináveis! Maria riu. No fundo de sua mente, uma vozinha falou: O presidente está fazendo piada comigo sobre Fidel Castro! À beira de uma piscina!
– Às vezes Pierre me pede para escrever algum release, é o que mais gosto de fazer. – Diga a ele para lhe pedir mais releases. Você escreve bem. – Obrigada, presidente. O senhor não sabe como é importante para mim ouvir isso. – Você é de Chicago, não é? – Sou, sim. – E onde está morando agora? – Georgetown. Divido apartamento com duas outras moças que trabalham no Departamento de Estado. – Que ótimo. Bem, fico contente por você estar instalada. Valorizo seu trabalho e sei que Pierre também pensa assim. Kennedy se virou e começou a conversar com Jenny, mas Maria não ouviu o que ele disse; estava empolgada demais. O presidente se lembrava do seu nome; sabia que ela era de Chicago, e tinha seu trabalho em alta conta. E ele era tão bonito... Maria se sentia tão leve que tinha a impressão de que poderia flutuar até a Lua. Dave olhou para o relógio e disse: – Meio-dia e meia, presidente. Ela não conseguiu acreditar que já fazia meia hora que estava ali. Pareciam dois minutos. Mas o presidente saiu da piscina e foi para o vestiário. As três moças também saíram. – Aceitem um sanduíche – ofereceu Dave. Elas se aproximaram da mesa. Como aquele era seu intervalo de almoço, Maria tentou comer alguma coisa, mas sua barriga parecia ter murchado até as costas. Tomou uma garrafa de refrigerante bem doce. Dave se retirou, e as três moças tornaram a vestir suas roupas de trabalho. Maria se olhou no espelho. Seus cabelos estavam um pouco molhados por causa da umidade, mas o penteado continuava perfeito, no lugar certo. Depois de se despedir de Jenny e Jerry, ela voltou para a sala da assessoria. Sobre sua mesa havia um grosso relatório sobre o serviço público de saúde e um bilhete de Salinger pedindo um resumo de duas páginas para dali a uma hora. Ela cruzou olhares com Nelly, e a colega perguntou: – Então? Que história foi essa? Depois de refletir por alguns segundos, Maria respondeu: – Não faço a menor ideia.
George Jakes recebeu um recado pedindo-lhe que fosse ver Joseph Hugo na sede do FBI. Hugo agora era assistente pessoal de J. Edgar Hoover, diretor da agência de investigação. O recado dizia que eles tinham informações importantes sobre Martin Luther King, que Hugo
desejava compartilhar com funcionários do secretário de Justiça. Hoover odiava Martin Luther King. Não havia um só agente negro no FBI. Hoover também odiava Bobby Kennedy. Ele odiava uma porção de gente. George cogitou não ir. A última coisa que desejava era falar com Hugo, aquele maucaráter que traíra o movimento pelos direitos civis e a ele pessoalmente. Seu braço ainda doía de vez em quando por causa da agressão sofrida em Anniston enquanto Hugo assistia, fumando e conversando com policiais. Por outro lado, se fosse alguma notícia ruim, George queria ser o primeiro a saber. Talvez o FBI tivesse descoberto que King traía a mulher ou algo assim. Seria muito bom ter a chance de administrar a divulgação de qualquer informação negativa relacionada ao movimento em defesa dos direitos civis. Ele não queria alguém como Dennis Wilson espalhando a notícia. Por esse motivo, seria obrigado a ir falar com Hugo, e provavelmente a suportar o seu tripúdio. A sede do FBI ficava em outro andar do prédio do Departamento de Justiça. George encontrou Hugo em uma salinha próxima ao complexo de salas do diretor. O rapaz tinha os cabelos curtos, ao estilo da agência, e usava um terno cinza simples com camisa de náilon branca e gravata azul-marinho. Sobre sua mesa havia um maço de cigarros mentolados e uma pasta de documentos. – O que você quer? – perguntou George. Hugo deu um sorriso forçado. Não conseguia esconder a própria satisfação. – Um dos conselheiros de Martin Luther King é comunista – falou. George ficou chocado. Aquela acusação poderia prejudicar todo o movimento em defesa dos direitos civis. Sentiu um calafrio de apreensão. Era impossível provar que alguém não era comunista, e de toda forma a verdade não tinha a menor importância: a simples sugestão já era mortal. Como uma acusação de bruxaria na Idade Média, era um jeito fácil de fomentar o ódio entre pessoas estúpidas e ignorantes. – Qual deles? – perguntou a Hugo. O outro rapaz verificou um documento como se precisasse refrescar a memória. – Stanley Levison – respondeu. – Não parece nome de um negro. – Ele é judeu. Hugo pegou uma foto dentro da pasta e lhe entregou. George viu um rosto branco sem nenhuma característica especial, com os cabelos recuados na testa e óculos grandes. O homem usava uma gravata-borboleta. George já havia encontrado King e seu pessoal em Atlanta, e ninguém se parecia com aquele sujeito. – Tem certeza de que ele trabalha na Conferência da Liderança Cristã do Sul? – Eu não disse que ele trabalhava para King. Ele é advogado em Nova York. É também um bem-sucedido homem de negócios. – Então em que sentido ele é “conselheiro” do Dr. King?
– Ele ajudou o reverendo a publicar seu livro e o defendeu em um processo por evasão fiscal no Alabama. Eles não se encontram com frequência, mas se falam ao telefone. George se empertigou. – Como é que você sabe dessas coisas? – Fontes – respondeu Hugo, convencido. – Está dizendo então que o Dr. King de vez em quando telefona para um advogado de Nova York para receber conselhos sobre impostos e questões editoriais. – De um comunista. – Como sabe que ele é comunista? – Fontes. – Que fontes? – Não podemos revelar a identidade dos informantes. – Para o secretário de Justiça, podem, sim. – Você não é o secretário de Justiça. – Você tem o número da carteirinha de Levison? – O quê? – Hugo ficou momentaneamente desconcertado. – Os membros do Partido Comunista têm uma carteira, como você bem sabe. Cada carteira tem um número. Qual é o número da de Levison? Hugo fingiu procurar dentro da pasta. – Acho que não está aqui. – Então vocês não podem provar que ele é comunista. – Nós não precisamos provar – retrucou Hugo, demonstrando irritação. – Não vamos processá-lo. Estamos apenas informando o secretário de Justiça sobre nossas suspeitas, como é nosso dever. George ergueu a voz: – Vocês estão comprometendo o nome do Dr. King com a alegação de que um advogado que ele consultou é comunista e não apresentam prova nenhuma? – Tem razão – disse Hugo, surpreendendo George. – Precisamos de mais provas. É por isso que vamos solicitar um grampo no telefone de Levison. – Os grampos precisavam de autorização do secretário de Justiça. – A pasta é para vocês. – Ele a estendeu. Mas George não a pegou. – Se vocês grampearem Levison, vão interceptar algumas das ligações do Dr. King. – Quem fala com comunistas corre o risco de ser grampeado – disse Hugo, dando de ombros. – Algum problema com isso? Para George, fazer uma coisa dessas em um país livre era um problema, sim, mas ele não disse nada. – Não sabemos se Levison é comunista. – Então precisamos descobrir. George pegou a pasta, levantou-se e abriu a porta.
– Hoover com certeza vai mencionar a questão na próxima vez em que estiver com Bobby – falou Hugo. – Então não tente segurar a informação. George havia pensado em fazer isso, mas o que disse foi: – É claro que não. De toda forma, não era uma boa ideia. – Então o que você vai fazer? – Falar com Bobby. Caberá a ele decidir. Dito isso, George saiu da sala. Subiu de elevador até o quinto andar. Vários altos funcionários do Departamento de Justiça estavam saindo da sala de Bobby. George espiou lá dentro. O secretário estava sem paletó, com as mangas da camisa arregaçadas e de óculos. Estava claro que acabara de encerrar uma reunião. George verificou o relógio: tinha alguns minutos antes do próximo compromisso de Bobby. Entrou na sala. – Oi, George, como andam as coisas? – perguntou Bobby, caloroso. Fora assim desde o dia em que George pensara que Bobby Kennedy fosse lhe bater: o secretário agora o tratava como um grande amigo. Pensou se isso seria um padrão de comportamento; talvez Bobby precisasse brigar com alguém antes de se tornar íntimo. – Más notícias – anunciou George. – Sente-se e me conte. George fechou a porta. – Hoover está dizendo que encontrou um comunista no círculo de Martin Luther King. – Hoover é um veadinho criador de caso – retrucou Bobby. George se espantou. Será que Bobby estava querendo dizer que Hoover era homossexual? Parecia impossível. Talvez fosse apenas um xingamento. – O nome do cara é Stanley Levison – informou. – E de quem se trata? – Um advogado que o Dr. King consultou sobre impostos e outros assuntos. – Em Atlanta? – Não. Levison trabalha em Nova York. – Não está parecendo muito próximo de King. – Não acho que seja. – Mas isso não importa muito – disse Bobby, desanimado. – Hoover sempre pode fazer as coisas parecerem piores do que são. – Segundo o FBI, Levison é comunista, mas eles não quiseram me dizer que provas têm. Talvez digam ao senhor. – Eu não quero saber nada sobre as fontes deles. – Bobby ergueu as duas mãos com as palmas para a frente, em um gesto defensivo. – Se houvesse qualquer vazamento, eles me culpariam para sempre. – Eles não têm nem o número da carteirinha do partido de Levison.
– Eles não sabem porra nenhuma, estão só jogando verde – falou Bobby. – Mas não faz diferença. As pessoas vão acreditar. – O que nós vamos fazer? – King tem de romper com Levison – respondeu Bobby em tom decidido. – Caso contrário, Hoover vai vazar essa informação, a reputação de King vai ser prejudicada e toda essa lambança dos direitos civis só vai piorar. George não pensava na campanha em defesa dos direitos civis como uma “lambança”, mas os irmãos Kennedy, sim. A questão, porém, era outra. A acusação de Hoover constituía uma ameaça que precisava ser administrada, e Bobby tinha razão: a solução mais simples seria King romper com Levison. – Mas como vamos conseguir que o Dr. King faça isso? – indagou George. – Você vai pegar um avião até Atlanta e dirá isso a ele – respondeu Bobby. George ficou intimidado. Martin Luther King era famoso por desafiar as autoridades, e George sabia, por Verena, que tanto na esfera pessoal quanto na pública não era fácil convencê-lo de nada. No entanto, escondeu sua apreensão por trás de um semblante calmo. – Vou ligar agora mesmo e marcar uma hora. – Ele andou até a porta. – Obrigado, George – disse Bobby com alívio evidente. – É ótimo mesmo poder contar com você.
Um dia depois de ir à piscina com o presidente, Maria atendeu o telefone e tornou a escutar a voz de Dave Powers. – Vai ter uma confraternização de funcionários às cinco e meia – disse ele. – Gostaria de participar? Maria e as colegas de apartamento tinham combinado ir ver Audrey Hepburn e o galã George Peppard em Bonequinha de luxo, mas funcionários subalternos da Casa Branca não diziam não a Dave Powers. As meninas teriam de babar por Peppard sem sua companhia. – Onde vai ser? – indagou ela. – Lá em cima. – Lá em cima? – Em geral isso queria dizer a residência pessoal do presidente. – Passo aí para buscá-la. – Dave desligou. Na mesma hora, Maria desejou ter escolhido uma roupa mais elegante para ir trabalhar. Estava usando uma saia xadrez plissada e uma blusa branca simples com pequenos botões dourados. Seu penteado hoje era curto e sem requinte, batido na nuca e com duas mechas tipo pega-rapaz de um lado e outro do rosto, como estava na moda. Receava estar igualzinha a qualquer outra moça da capital que trabalhasse em um escritório. – Você foi convidada para uma confraternização de funcionários hoje no final do dia? – perguntou a Nelly.
– Eu, não. Onde vai ser? – Lá em cima. – Que sorte a sua. Às cinco e quinze, Maria foi ao banheiro feminino ajeitar os cabelos e a maquiagem. Reparou que nenhuma das outras mulheres estava fazendo qualquer esforço especial, e deduziu que elas não tinham sido convidadas. Talvez a confraternização fosse para os recémcontratados. Às cinco e meia, Nelly pegou a bolsa para ir embora. – Cuide-se, então – falou para Maria. – Você também. – Não, estou falando sério – insistiu a secretária, e saiu antes de Maria poder perguntar o que ela queria dizer com isso. Um minuto depois, Dave Powers apareceu. Conduziu-a porta afora pela Galeria Oeste, passou pela porta da piscina, tornou a entrar no prédio e subiu por um elevador. As portas se abriram para um corredor imponente com dois lustres no teto. As paredes tinham uma cor entre o azul e o verde que talvez, pensou Maria, fosse o tom conhecido como eau de nil. Mal teve tempo para absorver o ambiente que a cercava. – Aqui é a Sala de Espera Oeste – explicou Dave, fazendo-a passar por uma porta aberta até uma sala informal mobiliada com vários sofás confortáveis e com uma ampla janela em arco virada para o pôr do sol. As mesmas duas secretárias, Jenny e Jerry, estavam presentes, mas não havia mais ninguém. Maria sentou-se e perguntou-se quando os outros iriam chegar. Sobre a mesa de centro, viu uma bandeja com copos de drinques e uma jarra. – Aceite um daiquiri – disse Dave, e serviu a bebida sem esperar resposta. Maria não tinha o hábito de ingerir álcool, mas sorveu um golinho e gostou. Pegou um folheado de queijo na bandeja de canapés. O que estaria acontecendo ali? – A primeira-dama vai vir nos encontrar? – indagou. – Adoraria conhecê-la. Houve alguns segundos de silêncio que lhe deram a impressão de ter dito algo inconveniente, então Dave falou: – Jackie está em Glen Ora. Glen Ora era uma fazenda em Middleburg, na Virgínia, onde Jackie Kennedy criava cavalos e fazia parte do clube de caça Orange County Hunt. Ficava a cerca de uma hora da capital. – Ela levou Caroline e John John – disse Jenny. Caroline Kennedy tinha 4 anos, e John John, 1. Se eu fosse casada com ele, pensou Maria, não o deixaria sozinho para ir montar. De repente, o presidente entrou; todos se levantaram. Ele estava com um ar cansado e tenso, mas exibia o mesmo sorriso caloroso de sempre. Tirou o paletó, jogou-o sobre o encosto de uma cadeira, sentou-se no sofá, reclinou-se e pôs
os pés em cima da mesa de centro. Maria teve a sensação de ter sido aceita no grupo social mais exclusivo do mundo. Estava na casa do presidente, tomando drinques e comendo canapés enquanto ele punha os pés para cima. O que quer que o futuro lhe reservasse, guardaria para sempre aquela lembrança. Esvaziou seu copo e Dave tornou a enchê-lo. Por que ela estava pensando o que quer que o futuro lhe reservasse? Havia alguma coisa estranha naquela situação. Ela não passava de uma pesquisadora que esperava conseguir em breve uma promoção a assessora de imprensa assistente. Apesar da atmosfera descontraída, na verdade não estava entre amigos. Nenhuma daquelas pessoas sabia nada sobre ela. O que estava fazendo ali? Kennedy se levantou e perguntou: – Maria, quer dar uma volta para conhecer a residência? Uma volta para conhecer a residência? Com o próprio presidente? Quem poderia recusar? – Claro. Ela se levantou. O daiquiri lhe subiu à cabeça e ela ficou tonta por alguns segundos, mas depois passou. O presidente entrou por uma porta lateral e ela foi atrás. – Aqui antigamente era um quarto de hóspedes, mas a Sra. Kennedy o transformou em sala de jantar – explicou. O cômodo era forrado com um papel de parede que mostrava cenas de batalha da Revolução Americana. A mesa quadrada no centro dava a impressão de ser pequena demais para o espaço, pensou Maria, e o lustre grande demais para a mesa. Mas o que ela mais pensou foi: estou sozinha com o presidente na residência da Casa Branca... eu, Maria Summers! Kennedy sorriu e a encarou. – O que achou? – quis saber, como se ele próprio não conseguisse decidir o que pensava sem antes ouvir sua opinião. – Adorei – respondeu ela, desejando conseguir pensar em um elogio mais inteligente. – Por aqui. – Tornou a atravessar com ela a Sala de Estar Oeste e entrou pela porta do lado oposto. – Este é o quarto da Sra. Kennedy – falou, fechando a porta atrás deles. – Que lindo – disse Maria, com um sussurro. Em frente à porta ficavam duas largas janelas emolduradas por cortinas azul-claras. À esquerda de Maria havia uma lareira, e diante desta um sofá sobre um tapete estampado no mesmo tom de azul. Acima do parapeito pendia uma coleção de desenhos enquadrados de visual elegante e refinado, como a própria Jackie. Do outro lado, a colcha e o baldaquino da cama também combinavam entre si, bem como o pano que recobria a mesinha de canto. Maria nunca tinha visto um quarto como aquele, nem mesmo nas revistas. Mas estava pensando: por que ele disse “o quarto da Sra. Kennedy”? Por acaso não dormia ali? A espaçosa cama de casal estava feita em duas metades distintas, e Maria recordou que o
presidente precisava de um colchão duro por causa dos problemas nas costas. Ele a levou até a janela, e ambos admiraram a vista. A luz do fim de tarde batia suavemente no Gramado Sul e no chafariz em que os filhos do casal Kennedy às vezes brincavam. – Muito lindo – repetiu Maria. O presidente pôs a mão no seu ombro. Era a primeira vez que a tocava, e a emoção foi tanta que ela estremeceu de leve. Sentiu o cheiro da água-de-colônia que ele usava, e agora estava próxima o bastante para distinguir o alecrim e o almíscar por baixo do aroma cítrico. Ele a encarou com seu leve sorriso tão atraente. – Este é um quarto muito íntimo – murmurou. Ela o fitou nos olhos. – Sim – sussurrou. Teve uma sensação de grande intimidade com ele, como se o conhecesse da vida inteira, como se soubesse, sem qualquer dúvida possível, que podia confiar nele e amá-lo sem limites. Sentiu um instante fugidio de culpa em relação a George Jakes, mas o rapaz nem sequer a convidara para sair. Afastou-o do pensamento. Kennedy pousou a outra mão sobre seu outro ombro e a empurrou delicadamente para trás. Quando sentiu as pernas tocarem a cama, ela se sentou. Ele a empurrou mais para trás até obrigá-la a se apoiar nos próprios cotovelos. Sem desgrudar os olhos dos seus, começou a abrir sua blusa. Por um segundo apenas, ela sentiu vergonha daqueles botões dourados vagabundos ali, naquele quarto de elegância indescritível. Então ele tocou seus seios. De repente, Maria sentiu ódio do sutiã de náilon que se interpunha entre a sua pele e a dele. Abriu rapidamente o resto dos botões, tirou a blusa, levou a mão às costas para abrir o sutiã e o despiu também. Ele fitou seus seios com adoração, em seguida os segurou com as mãos macias e os acariciou, primeiro com delicadeza, depois apertando bem firme. Pôs a mão por baixo de sua saia plissada e puxou a calcinha para baixo. Maria desejou ter se lembrado de aparar os pelos pubianos, como Jenny e Jerry faziam. Kennedy estava ofegante, e ela também. Ele abriu a braguilha da calça do terno e a deixou cair no chão, então se deitou por cima dela. Será que era sempre assim tão rápido? Ela não sabia. Ele começou a penetrá-la sem dificuldade. Então, ao sentir uma resistência, parou. – Você nunca fez isso antes? – indagou ele, surpreso. – Não. – Está tudo bem? – Tudo. Tudo mais do que bem, até. Ela estava feliz, excitada, cheia de desejo. Ele empurrou com mais delicadeza. Alguma coisa cedeu, e Maria sentiu uma pontada de dor. Não pôde reprimir um grito débil.
– Tudo bem? – repetiu ele. – Tudo. – Não queria que ele parasse. De olhos fechados, Kennedy continuou. Maria ficou olhando seu rosto, a expressão concentrada, o sorriso de prazer. Ele então deu um suspiro satisfeito, e tudo terminou. Ele se pôs de pé e levantou a calça. Com um sorriso, falou: – O banheiro é logo ali. Apontou para uma porta no canto e fechou a braguilha. De repente, Maria sentiu-se encabulada, deitada ali na cama com a nudez totalmente exposta. Levantou-se depressa. Recolheu a blusa e o sutiã, curvou-se para catar a calcinha e correu para o banheiro. Olhou-se no espelho e pensou: o que acabou de acontecer? Não sou mais virgem, concluiu. Fiz sexo com um homem maravilhoso. Ele por acaso é presidente dos Estados Unidos. Senti prazer. Vestiu as roupas e retocou a maquiagem. Felizmente, não tinha desarrumado os cabelos. Este é o banheiro de Jackie, lembrou, culpada, e de repente quis sair dali. Não havia mais ninguém no quarto. Ela foi até a porta, então se virou e tornou a olhar para a cama. Deu-se conta de que ele não a beijara uma vez sequer. Foi até a Sala de Estar Oeste. O presidente estava sentado ali, sozinho, com os pés sobre a mesa de centro. Dave e as moças tinham ido embora e deixado atrás de si uma bandeja de copos usados e as sobras dos canapés. Kennedy parecia relaxado, como se nada importante tivesse acontecido. Seria aquilo uma ocorrência diária para ele? – Quer comer alguma coisa? – ofereceu. – A cozinha fica aqui ao lado. – Não, presidente, obrigada. Ele acabou de me comer e eu ainda o estou chamando de presidente, pensou. Kennedy se levantou. – Tem um carro no Pórtico Sul esperando para levá-la em casa – disse ele. Acompanhou-a até o saguão principal. – Está tudo bem? – perguntou, pela terceira vez. – Tudo. O elevador chegou. Maria se perguntou se ele lhe daria um beijo de boa-noite. Mas ele não deu. Ela entrou no elevador. – Boa noite, Maria. – Boa noite – disse ela, e as portas se fecharam.
George ainda precisou esperar mais uma semana para dizer a Norine Latimer que queria terminar a relação.
Estava apreensivo com a conversa. Já tinha terminado com outras garotas, claro. Depois de uma ou duas saídas, era fácil: bastava não ligar mais. Depois de um relacionamento longo, pela sua experiência, o sentimento em geral era mútuo: ambos sabiam que a emoção tinha morrido. Mas com Norine não era nem uma coisa nem outra. Eles só saíam havia uns dois meses e se davam bem. George estava torcendo para transarem muito em breve. Ela não estaria esperando um fora. Convidou-a para almoçar. Ela pediu que ele a levasse a um restaurante no subsolo da Casa Branca conhecido como refeitório, mas o lugar não aceitava mulheres. George não queria levá-la a um lugar chique como o Jockey Club por medo de ela pensar que estava prestes a pedi-la em casamento. No fim das contas, acabaram indo ao Old Ebbitt, restaurante tradicional de políticos que já vira dias melhores. Norine tinha uma aparência mais árabe do que africana. Dona de uma beleza exuberante e exótica, tinha cabelos negros ondulados, pele morena e nariz adunco. Estava usando um suéter fofinho que na realidade não lhe caía bem. George calculou que estivesse tentando intimidar seu chefe: os homens não se sentiam à vontade com a presença de mulheres de aspecto autoritário em seus escritórios. – Sinto muito mesmo por ter cancelado ontem – disse ele depois de fazerem o pedido. – Fui convocado para uma reunião com o presidente. – Bem, com o presidente eu não posso competir – retrucou ela. George achou aquilo uma coisa meio boba de se dizer. É claro que ela não podia competir com o presidente; ninguém podia. Mas não queria começar esse debate. Foi direto ao assunto. – Aconteceu uma coisa – falou. – Antes de eu conhecer você, tinha outra garota. – Eu sei – disse Norine. – Como assim? – George, eu gosto de você. Você é inteligente, engraçado, gentil. E, tirando essa orelha, é bonito. – Mas... – Mas eu sei dizer quando um homem está a fim de outra pessoa. – Sabe? – Imagino que seja Maria. George ficou pasmo. – Como é que você pode saber isso? – Você disse o nome dela umas quatro ou cinco vezes. E nunca falou sobre nenhuma outra garota do seu passado. Então não é preciso ser nenhum gênio para entender que ela ainda é importante na sua vida. Só que, como ela está em Chicago, eu achei que talvez conseguisse tirar você dela. De repente, Norine exibiu uma expressão triste. – Ela veio para Washington – falou George. – Garota esperta.
– Não por minha causa. Por causa de um emprego. – Seja como for, você está me dando um pé na bunda para ficar com ela. Ele não podia dizer sim para isso, mas era verdade, portanto ficou calado. A comida chegou, mas Norine não pegou o garfo. – Desejo a você tudo de bom, George – disse ela. – Cuide-se bem. Aquilo parecia muito súbito. – Ahn... você também. Ela se levantou. – Tchau. Só havia uma coisa a dizer: – Tchau, Norine. – Pode ficar com a minha salada – concluiu ela, e saiu do restaurante. George ainda ficou empurrando a comida de um lado para outro do prato por alguns minutos, sentindo-se mal. Ao seu modo, Norine tinha sido boa com ele, tinha facilitado as coisas. Torceu para ela ficar bem. Ela não merecia ser magoada. Do restaurante, foi direto para a Casa Branca. Precisava participar do Comitê Presidencial de Oportunidades de Emprego Igualitárias, presidido pelo vice Lyndon Johnson; havia formado uma aliança com Skip Dickerson, um dos consultores de Johnson. Só que ainda faltava uma hora para a reunião, então foi até a assessoria à procura de Maria. Nesse dia, ela estava usando um vestido de bolinhas com uma faixa da mesma estampa nos cabelos. A faixa decerto estava segurando uma peruca: a maioria das garotas negras usava apliques complicados, e o belo penteado curto de Maria com certeza não era natural. Quando ela lhe perguntou como ele estava, George não soube o que responder. Sentia-se culpado por causa de Norine, mas agora podia chamar Maria para sair sem peso na consciência. – Bastante bem, considerando tudo – respondeu. – E você? Ela baixou a voz: – Às vezes eu simplesmente odeio os brancos. – O que houve? – Você não conheceu o meu avô. – Nunca conheci ninguém da sua família. – Vovô ainda faz sermões lá em Chicago de vez em quando, mas passa a maior parte do tempo na cidade em que nasceu, Golgotha, no Alabama. Diz que nunca se acostumou com o vento frio do Meio-Oeste. Mas ele ainda tem muita disposição. Vestiu seu melhor terno e foi ao tribunal de Golgotha tirar seu título de eleitor. – E o que aconteceu? – Eles o humilharam. – Ela balançou a cabeça. – Você sabe como é. Eles mandam as pessoas fazerem um teste de alfabetização: é preciso ler em voz alta um trecho da Constituição, explicá-lo, e depois escrevê-lo. Quem escolhe a cláusula a ser lida é o
funcionário do cartório. Para os brancos, dá frases simples como “Ninguém poderá ser preso por motivo de dívida.” Mas os negros sempre recebem parágrafos longos e complicados, que só um advogado seria capaz de entender. Depois disso cabe ao funcionário dizer se você é alfabetizado ou não, e é claro que ele sempre decide que os brancos são e os negros não. – Filhos da puta. – E não é só isso. Os negros que tentam tirar o título são demitidos de seus empregos como punição, só que, como vovô é aposentado, isso eles não puderam fazer. Então, quando ele estava saindo do tribunal, foi preso por vadiagem. Teve de passar a noite na cadeia... o que não é fácil para um senhor de 80 anos. Ela estava com os olhos marejados. Aquela história aumentou a determinação de George. Do que ele podia reclamar? E daí se algumas das suas atribuições lhe davam vontade de lavar as mãos? Trabalhar para Bobby ainda era a coisa mais eficaz que ele podia fazer por gente como o avô Summers. Um dia aqueles racistas do Sul seriam derrotados. Ele olhou para o relógio. – Tenho reunião com Lyndon. – Conte a ele sobre o meu avô. – Talvez conte, mesmo. O tempo que ele passava com Maria sempre lhe parecia curto demais. – Sinto muito ter de sair correndo, mas quer fazer alguma coisa depois do trabalho? Podemos tomar um drinque, ou quem sabe ir jantar em algum lugar. Ela sorriu. – Obrigado, George, mas hoje eu tenho compromisso. – Ah... – George ficou espantado. Por algum motivo, não havia lhe ocorrido que ela talvez já estivesse saindo com alguém. – Eu, ahn, amanhã preciso ir a Atlanta, mas volto daqui a dois ou três dias. Quem sabe no fim de semana? – Não, obrigada. – Ela hesitou antes de explicar: – Estou meio que namorando firme. George ficou arrasado, o que era uma estupidez: por que uma moça bonita como Maria não estaria namorando firme? Que bobo ele tinha sido. Sentiu-se desorientado, como se houvesse perdido o chão. – Cara de sorte – conseguiu articular. Ela sorriu. – É muito gentil da sua parte dizer isso. George queria saber quem era o concorrente. – Quem é o cara? – Você não conhece. Não, mas assim que puder vou descobrir o nome dele. – Pode ser que conheça. Mas ela fez que não com a cabeça.
– Prefiro não dizer. George ficou frustradíssimo. Tinha um adversário, mas nem sequer sabia o nome do sujeito. Quis insistir com ela, mas tomou cuidado para não forçar a barra: garotas odiavam isso. – Está bem – falou, relutante. E arrematou com toda a insinceridade de que foi capaz. – Divirta-se hoje à noite. – Pode deixar. Os dois se separaram, Maria na direção da assessoria de imprensa, George na da sala do vice-presidente. Estava arrasado. Gostava mais de Maria do que de qualquer outra garota que já tivesse conhecido, e a havia perdido para outro homem. Quem poderia ser?, perguntou-se.
Maria tirou a roupa e entrou na banheira com Jack Kennedy. O presidente passava o dia tomando remédios, mas nada aliviava mais sua dor nas costas do que estar dentro d’água. Ele chegava até a se barbear na banheira pela manhã. Se pudesse, dormiria dentro de uma piscina. Aquela era a sua banheira, no seu banheiro privativo, com o seu frasco dourado e azulturquesa de água-de-colônia 4711 na prateleira acima da pia. Depois daquela primeira vez, Maria nunca mais voltara aos aposentos de Jackie. O presidente tinha sua própria suíte, ligada à de Jackie por um corredor curto que, por algum motivo, era onde ficava o toca-discos. Jackie estava viajando de novo. Maria já tinha aprendido a não se torturar pensando na esposa de seu amante. Sabia que estava traindo uma mulher decente e isso a entristecia, de modo que não pensava no assunto. Adorava aquele banheiro. Era mais luxuoso do que ela poderia ter sonhado: toalhas macias, roupões brancos e sabonetes caros, além de uma família de patos de borracha amarelos. Eles agora tinham uma rotina. Sempre que Dave Powers a convidava, o que ocorria cerca de uma vez por semana, ela pegava o elevador até a residência presidencial depois do trabalho. Uma jarra de daiquiri e uma bandeja de canapés sempre a aguardavam na Sala de Espera Oeste. Às vezes Dave estava lá, outras vezes Jenny e Jerry, e em algumas ocasiões não havia ninguém. Maria se servia uma bebida e, ansiosa mas pacientemente, esperava o presidente chegar. Eles iam para o quarto logo em seguida. Aquele era o lugar preferido de Maria no mundo todo. Havia uma cama de baldaquino azul, duas cadeiras em frente a uma lareira de verdade, e pilhas de livros, revistas e jornais por toda parte. Tinha a sensação de que poderia passar o resto da vida morando dentro daquele quarto, sem problema algum.
Com toda a delicadeza, ele havia lhe ensinado a praticar sexo oral; ela se revelara uma aluna muito disposta. Em geral era isso que ele queria assim que chegava. Muitas vezes mostrava pressa, quase um desespero, e essa urgência era excitante. Porém Maria gostava mais dele depois, quando relaxava e se mostrava mais caloroso, carinhoso. Às vezes ele punha um disco para tocar. Gostava de Sinatra, Tony Bennett e Percy Marquand. Nunca tinha ouvido falar em The Miracles nem em The Shirelles. Havia sempre uma ceia fria na cozinha: frango, camarão, sanduíches, salada. Depois de comerem, eles tiravam a roupa e entravam na banheira. Nessa noite, Maria se sentou do lado oposto da banheira. Ele pôs dois patos na água e disse: – Aposto 25 cents que o meu pato é mais rápido do que o seu. – Com seu sotaque de Boston, pronunciava algumas palavras como se fosse inglês. Maria pegou um pato. Gostava mais dele assim: brincalhão, bobo, infantil. – Tudo bem, presidente. Mas vamos apostar um dólar, se tiver coragem. Ela ainda o chamava quase sempre de presidente. Sua mulher o chamava de Jack; os irmãos, às vezes, de Johnny. Maria só o chamava de Johnny nos momentos de intensa paixão. – Não posso me dar ao luxo de perder um dólar – disse ele, rindo. Mas era um homem sensível, e pôde ver que ela não estava muito animada. – O que houve? – Não sei. – Ela deu de ombros. – Em geral não falo com você sobre política. – Por que não? Eu vivo de política e você também. – Você passa o dia inteiro sendo importunado. O tempo que temos juntos é para relaxarmos e nos divertirmos. – Abra uma exceção. – Ele segurou o pé dela, encostado em sua coxa dentro d’água, e acariciou os dedos. Maria sabia que tinha pés lindos e sempre pintava as unhas. – Alguma coisa incomodou você. Me diga o que foi. Quando ele a encarava assim tão intensamente, com aqueles olhos cor de avelã e o sorriso de ironia, ela ficava sem ação. – Anteontem meu avô foi preso por tentar tirar o título de eleitor. – Preso? Eles não podem fazer isso. Qual foi a acusação? – Vadiagem. – Ah. Foi em algum lugar no Sul. – Golgotha, no Alabama. A cidade em que ele nasceu. – Ela hesitou, mas resolveu lhe contar a história toda, mesmo que ele não fosse gostar: – Quer saber o que ele disse quando saiu da prisão? – O quê? – “Com Kennedy na Casa Branca eu achei que pudesse votar, mas pelo visto estava errado.” Pelo menos foi o que minha avó me disse. – Que droga – disse Kennedy. – Ele acreditou em mim e eu o decepcionei. – É isso que ele pensa, eu acho.
– E você, Maria, o que pensa? – Ele continuava a afagar seus dedos. Ela tornou a vacilar; olhou para seu pé escuro nas mãos brancas dele. Temia que aquela conversa pudesse azedar. Ele era muito suscetível à menor sugestão de que fosse insincero ou indigno de confiança, ou de que não conseguisse manter suas promessas políticas. Se ela forçasse demais, poderia terminar seu relacionamento. E, se isso acontecesse, ela iria morrer. Mas precisava ser sincera. Respirou fundo e tentou manter a calma. – Até onde eu posso constatar, a questão não é complicada – começou. – Os sulistas fazem isso porque podem. Apesar da Constituição, a lei, da maneira que é hoje, os deixa escapar impunes. – Não totalmente – interrompeu Kennedy. – Meu irmão Bob aumentou o número de processos por violações do direito ao voto no Departamento de Justiça. Tem um advogado negro brilhante trabalhando com ele. Ela assentiu. – George Jakes. Eu o conheço. Mas o que eles estão fazendo não basta. O presidente deu de ombros. – Isso eu não posso negar. Ela insistiu: – Todo mundo concorda que temos de mudar a legislação criando uma nova Lei de Direitos Civis. Várias pessoas pensaram que você estivesse prometendo isso na sua campanha. E... e ninguém entende por que ainda não fez nada. – Ela mordeu o lábio, então arriscou o ultimato: – Nem eu. O semblante dele se tornou duro. Na mesma hora Maria se arrependeu de ter sido tão sincera. – Não se zangue – pediu. – Por nada deste mundo eu iria querer chateá-lo, mas você perguntou e quis ser sincera. – Seus olhos se encheram de lágrimas. – E o coitadinho do meu avô passou a noite inteira na prisão vestido com seu melhor terno. Ele forçou um sorriso. – Não estou zangado, Maria. Pelo menos não com você. – Pode me dizer o que quiser – falou ela. – Eu adoro você. Jamais iria julgá-lo, você deve saber disso. É só dizer o que sente e pronto. – Acho que estou zangado por ser fraco. Nós só temos a maioria no Congresso contando com os democratas conservadores do Sul. Se eu criar uma nova Lei de Direitos Civis, eles vão sabotá-la... e não só isso: para se vingar, vão votar contra o resto do meu programa legislativo nacional, incluindo o sistema público de saúde. O sistema de saúde poderia melhorar a vida dos negros americanos mais ainda do que uma Lei de Direitos Civis. – Isso significa que você desistiu dos direitos civis? – Não. A eleição de meio de mandato vai ser em novembro próximo. Vou pedir aos americanos que ponham mais democratas no Congresso de modo que eu possa cumprir minhas promessas de campanha.
– E eles vão fazer isso? – Provavelmente não. Os republicanos estão me atacando por causa da política externa. Nós perdemos Cuba, perdemos o Laos, e agora estamos perdendo o Vietnã. Tive que deixar Kruschev erguer uma cerca de arame farpado no meio de Berlim. Que droga... No momento estou imprensado contra a parede. – Que coisa estranha – refletiu Maria. – Você não pode deixar os negros do Sul votarem porque está vulnerável em relação à política externa. – Todo líder precisa parecer forte no cenário mundial, do contrário não consegue nada. – Você não poderia simplesmente tentar? Apresentar uma Lei de Direitos Civis, mesmo que provavelmente não consiga aprová-la? Pelo menos as pessoas vão saber que é sincero. Ele balançou a cabeça. – Se eu apresentar uma lei e for derrotado, parecerei fraco, e isso ameaçará todo o resto. E aí eu nunca mais terei uma segunda chance em relação aos direitos civis. – Então o que devo dizer ao meu avô? – Que fazer a coisa certa não é tão fácil quanto parece, mesmo quando se é presidente. Ele se levantou, e ela fez o mesmo. Secaram um ao outro com a toalha e foram para o quarto. Maria vestiu uma das camisas azuis macias que ele usava para dormir. Tornaram a fazer amor. Quando ele estava cansado, era tudo bem rápido como da primeira vez, mas nessa noite ele estava relaxado. Tornou-se brincalhão e os dois ficaram deitados na cama, divertindo-se com o corpo um do outro, como se nada mais no mundo importasse. Em seguida, ele adormeceu depressa. Maria ficou deitada ao seu lado, a mais feliz das mulheres. Não queria que chegasse a manhã, quando teria de se vestir, ir para a assessoria e começar seu dia de trabalho. Vivia no mundo real como se este fosse um sonho, esperando apenas a ligação de Dave Powers lhe avisando que podia acordar e voltar à única realidade que importava. Sabia que alguns de seus colegas deviam ter adivinhado o que estava acontecendo. Sabia que ele nunca deixaria a mulher para ficar com ela. Sabia que deveria se preocupar em evitar uma gravidez. Sabia que tudo o que estava fazendo era uma tolice, era errado, e jamais poderia ter um final feliz. E estava apaixonada demais para se importar.
George entendia por que Bobby estava tão feliz por poder mandá-lo conversar com King. Quando o secretário de Justiça precisava fazer pressão sobre o movimento pelos direitos civis, tinha mais chance de sucesso se o seu mensageiro fosse negro. Na opinião de George, Bobby estava certo em relação a Levison, mas mesmo assim seu papel não o deixava totalmente à vontade – sensação que começava a se tornar conhecida. Chovia e fazia frio em Atlanta. Verena o esperava no aeroporto, de sobretudo bege com
gola de pele. Estava linda, mas a rejeição de Maria ainda doía demais em George para ele sentir atração. – Eu conheço Stanley Levison – disse ela enquanto o conduzia de carro pela extensa área urbana da cidade. – Sujeito muito sincero. – Advogado, não é? – Mais do que isso. Ele ajudou Martin a escrever A caminho da liberdade. São bem próximos. – O FBI está dizendo que Levison é comunista. – Para o FBI, qualquer um que discorde de J. Edgar Hoover é comunista. – Bobby chamou Hoover de veadinho. Verena riu. – Acha que ele estava falando sério? – Sei lá. – Hoover, bicha? – Ela balançou a cabeça, incrédula. – É bom demais para ser verdade. A vida real nunca é tão engraçada assim. Ela foi dirigindo debaixo de chuva até o bairro de Old Fourth Ward, ocupado por centenas de estabelecimentos comerciais cujos donos eram negros. Parecia haver uma igreja por quarteirão. A Auburn Avenue um dia já fora chamada de a mais próspera rua negra dos Estados Unidos. A sede da Conferência da Liderança Cristã do Sul ficava no número 320. Verena parou diante de um prédio comprido de tijolo vermelho. – Bobby acha o Dr. King arrogante – comentou George. – Martin acha Bobby arrogante – rebateu Verena, dando de ombros. – E você, o que acha? – Que os dois têm razão. George riu. Gostava do senso de humor afiado de Verena. Eles correram pela calçada molhada até lá dentro. Então aguardaram quinze minutos em frente à sala de King antes de serem chamados. Martin Luther King era um belo homem de 33 anos, de bigode e cabelos pretos que rareavam prematuramente. Era baixo – George calculou que tivesse 1,68 metro – e meio gordinho. Estava usando um terno cinza-escuro bem passado, camisa branca e gravata fininha de cetim preto. Um lenço de seda despontava do bolso da frente do paletó, e ele usava abotoaduras grandes. George sentiu um leve cheiro de água-de-colônia. Teve a impressão de estar diante de um homem que achava importante ter uma aparência digna. Sentiu empatia: ele também era assim. King o cumprimentou com um aperto de mão e disse: – Da última vez que nos encontramos, você estava na Viagem da Liberdade a caminho de Anniston. Como vai o braço? – Totalmente bom, obrigado – respondeu George. – Larguei as competições de luta livre, mas já estava decidido a não continuar mesmo. Agora sou treinador de uma equipe em Ivy
City. – Ivy City era um bairro negro de Washington. – Que ótimo... Ensinar os negros a usarem sua força em um esporte disciplinado, com regras. Por favor, sente-se. – Ele acenou para uma cadeira e foi para trás de sua mesa. – Digame, por que o secretário de Justiça o mandou vir aqui falar comigo? Sua voz tinha um quê de orgulho ferido. Talvez King pensasse que Bobby deveria ter ido pessoalmente. George recordou que, no movimento pelos direitos civis, o apelido de King era Nosso Senhor. Expôs rapidamente o problema relacionado a Stanley Levison, sem deixar nada de fora, exceto o pedido de grampo. – Bobby me mandou aqui para insistir, com a maior ênfase possível, que o senhor rompa todos os vínculos com o Sr. Levison – concluiu. – É o único jeito de protegê-lo da acusação de conivência com os comunistas... uma acusação que pode causar danos incalculáveis ao movimento no qual ambos acreditamos. Depois que ele terminour, King falou: – Stanley Levison não é comunista. George abriu a boca para perguntar alguma coisa, mas King ergueu uma das mãos para silenciá-lo: não era homem de tolerar interrupções. – Stanley nunca foi membro do Partido Comunista. O comunismo é ateu, e eu, como seguidor de Jesus Cristo, não poderia ser amigo íntimo de um ateu. Mas... – Ele se inclinou por cima da mesa. – Essa não é toda a verdade. Ele passou algum tempo em silêncio, mas George sabia que não deveria dizer nada. – Vou lhe contar toda a verdade sobre Stanley Levison – retomou King por fim, e George teve a sensação de que estava prestes a ouvir um sermão. – Stanley tem talento para ganhar dinheiro. Isso o constrange. Ele sente que deveria passar a vida ajudando os outros. Portanto, quando era jovem, ele se deixou... enfeitiçar. Sim, é essa a palavra certa: deixou-se enfeitiçar pelos ideais do comunismo. Embora nunca tenha entrado para o partido, usou seus notáveis talentos para ajudar de várias formas o Partido Comunista dos Estados Unidos. Logo que viu como estava errado, rompeu a relação e passou a apoiar a causa da liberdade e da igualdade para os negros. Assim ficamos amigos. George esperou até ter certeza de que King havia terminado antes de falar: – Sinto muitíssimo ouvir isso, reverendo. Se Levison foi consultor financeiro do Partido Comunista, está maculado para sempre. – Mas ele mudou. – Eu acredito no senhor, mas outros não vão acreditar. Se continuar se relacionando com Levison, o senhor estará dando munição a seus inimigos. – Que seja, então – falou King. George ficou estupefato. – Como assim? – É preciso obedecer às regras morais mesmo quando elas não nos convêm. Caso
contrário, por que precisaríamos de regras? – Mas se o senhor pesar... – Nós não pesamos – retrucou King. – Stanley errou ao ajudar os comunistas. Ele se arrependeu e está se redimindo. Eu sou um pregador a serviço de Deus. Preciso perdoar como Jesus perdoa e receber Stanley de braços abertos. A alegria no céu será maior por um pecador arrependido do que por 99 justos. Eu próprio preciso com muita frequência da graça de Deus para evitar recusar o perdão a um semelhante. – Mas o custo... – George, eu sou um pastor cristão. A doutrina do perdão está profundamente enraizada em minha alma, mais até do que a liberdade e a justiça. Eu não iria retroceder nisso por nenhuma recompensa no mundo. George entendeu que sua missão estava condenada: King tinha sido absolutamente sincero. Não havia perspectiva nenhuma de ele mudar de ideia. Levantou-se. – Obrigado por gastar seu tempo me explicando seu ponto de vista. Sou grato por isso, e o secretário de Justiça também. – Vá com Deus – respondeu King. George e Verena saíram da sala e foram até a rua. Em silêncio, entraram no carro dela. – Vou deixá-lo no seu hotel – disse a moça. George assentiu. Estava pensando nas palavras de King. Não queria conversar. Seguiram em silêncio até ela parar em frente à porta do hotel. – E aí? – perguntou Verena por fim. – Ele me fez sentir vergonha de mim mesmo – respondeu George.
– É isso que os pregadores fazem – comentou sua mãe. – É o trabalho deles. É bom para você. Ela serviu um copo de leite e uma fatia de bolo para o filho. George não quis nenhum dos dois. Estavam ambos sentados na cozinha da casa dela, e George tinha lhe contado toda a história. – Ele foi tão forte... Quando entendeu o que era o certo, resolveu agir assim, qualquer que fosse o custo. – Não o ponha nas alturas além da conta – alertou Jacky. – Ninguém é santo, sobretudo se for homem. Era fim de tarde, e ela ainda estava usando as roupas do trabalho: vestido preto simples e sapatos sem salto. – Eu sei. Mas ali estava eu, tentando convencê-lo a romper com um amigo leal por motivos políticos cínicos, e tudo o que ele fez foi falar sobre certo e errado. – Como estava Verena?
– Queria que você a tivesse visto, com aquele sobretudo de gola de pele. – Você a levou para sair? – Fomos jantar. Ele não lhe dera um beijo de boa-noite. Do nada, Jacky falou: – Eu gosto de Maria Summers. George ficou espantado. – Como você a conhece? – Ela é sócia do clube. – Jacky era supervisora dos funcionários negros do Clube Feminino Universitário. – Não temos muitas sócias negras, então é claro que conversamos. Ela comentou que trabalhava na Casa Branca, eu lhe contei sobre você e percebemos que já se conheciam. Ela é de boa família. George achou graça naquilo. – E isso, como é que você sabe? – Ela levou os pais para almoçar. O pai é um advogado importante em Chicago. Conhece o prefeito Daley. – Daley era um grande aliado de Kennedy. – Você sabe mais sobre ela do que eu! – As mulheres escutam. Os homens falam. – Eu também gosto de Maria. – Que bom. – Ao se lembrar do assunto original da conversa, Jacky franziu a testa. – O que Bobby Kennedy falou quando você voltou de Atlanta? – Que vai autorizar o grampo de Levison. Ou seja, o FBI vai passar a escutar alguns dos telefonemas do Dr. King. – E qual é a real importância disso? Tudo o que King faz é para ser divulgado. – Eles talvez descubram com antecedência o que King pretende. Nesse caso, vão alertar os segregacionistas, que poderão se planejar e talvez encontrar jeitos de prejudicar as ações de King. – É ruim, mas não é o fim do mundo. – Eu poderia avisar a King sobre o grampo. Dizer a Verena para mandá-lo tomar cuidado com o que diz para Levison ao telefone. – Você estaria traindo a confiança dos seus colegas de trabalho. – É isso que me incomoda. – Na verdade, provavelmente teria de pedir demissão. – Exatamente. Porque eu me sentiria um traidor. – Além do mais, eles podem descobrir que alguém avisou e, quando buscarem o culpado, o único rosto negro que verão na sala será o seu. – Talvez eu devesse avisar mesmo assim, se for a coisa certa a fazer. – George, se você sair, não haverá nenhum rosto negro no círculo íntimo de Bobby Kennedy. – Eu sabia que você me diria para calar a boca e ficar.
– Não é fácil, mas sim, acho que é isso que você deveria fazer. – Eu também – concordou George.
CAPÍTULO DOZE
– Vocês moram em uma casa incrível – disse Beep Dewar a Dave Williams. Dave tinha 13 anos, morava ali desde que se entendia por gente e, na verdade, nunca havia reparado na casa. Ergueu os olhos para a fachada de tijolos no lado que dava para a o jardim, com suas fileiras regulares de janelas em estilo georgiano. – Incrível? – É tão antiga... – É do século XVIII, acho. Ou seja, deve ter só uns duzentos anos. – Só! – Beep riu. – Lá em São Francisco nada tem duzentos anos! O imóvel ficava na rua londrina chamada Great Peter Street, a poucos minutos a pé do Parlamento. A maioria das casas do bairro era do século XVIII, e Dave sabia vagamente que tinham sido construídas para os deputados e nobres que precisavam trabalhar na Câmara dos Comuns e na Câmara dos Lordes. Lloyd Williams, pai de Dave, era deputado na Câmara dos Comuns. – Você fuma? – perguntou Beep, sacando um maço. – Só quando tenho oportunidade. Ela lhe passou um cigarro, e cada um acendeu o seu. Ursula Dewar, que todos conheciam como Beep, também tinha 13 anos, mas parecia mais velha do que Dave. Usava sempre roupas americanas estilosas, suéteres justos, jeans apertados e botas. Afirmava já saber dirigir e chamava a rádio britânica de careta: só três estações, nenhuma das quais tocava rock ’n’ roll, e todas saíam do ar à meia-noite! Ao pegar Dave de olho nas pequenas protuberâncias que seus seios formavam na frente do suéter preto de gola rulê, não ficou sequer encabulada, apenas sorriu. Mas nunca chegou de fato a lhe dar uma chance de beijá-la. Ela não seria a primeira menina que Dave beijaria. Ele teria gostado de lhe dizer isso, só para o caso de ela o considerar inexperiente. Seria a terceira, contando com Linda Robertson – que ele contava, mesmo que a garota não tivesse retribuído o beijo. A questão era: ele sabia o que fazer. Só ainda não conseguira fazê-lo com Beep. Havia chegado bem perto. Discretamente, tinha passado o braço em volta de seus ombros no banco de trás do Humber Hawk do pai dela, mas Beep tinha virado o rosto e olhado para as ruas iluminadas pela luz dos postes. Ela não sentia cócegas. Os dois já tinham dançado o jive ao som do toca-discos Dansette no quarto de Evie, irmã de 15 anos de Dave, mas ela não quisera dançar coladinho quando ele pôs Elvis cantando “Are You Lonesome Tonight?”. Nem assim Dave perdera as esperanças. Infelizmente, aquele não era o momento certo: em pé no pequeno jardim em uma tarde de inverno, Beep com os braços em volta do corpo para
se aquecer, ambos ainda vestidos com suas roupas mais chiques. Estavam a caminho de um evento formal de família, mas depois haveria uma festa. Beep tinha um quarto de garrafa de vodca na bolsa para turbinar os refrigerantes que lhes seriam servidos enquanto seus pais, os hipócritas, se entupiam de uísque e gim. E aí tudo poderia acontecer. Ele encarou aqueles lábios cor-de-rosa que se fechavam em volta do filtro do Chesterfield e imaginou, cheio de desejo, como seria beijá-los. A mãe dele os chamou da casa com seu sotaque americano: – Crianças, venham, estamos saindo! Os dois jogaram os cigarros no canteiro de flores e entraram. As duas famílias estavam se reunindo no hall. A avó de Dave, Eth Leckwith, seria “apresentada” à Câmara dos Lordes, ou seja, viraria baronesa, passaria a ser chamada de Lady Leckwith e ocuparia um lugar de representante trabalhista na câmara alta do Parlamento. Os pais de Dave, Lloyd e Daisy, aguardavam ali com sua irmã Evie e um jovem amigo da família, Jasper Murray. Os Dewar, amigos da época da guerra, também estavam presentes. Woody Dewar era fotógrafo e estava em missão de trabalho em Londres por um ano; trouxera consigo a mulher, Bella, e os filhos Cameron e Beep. Todos os americanos pareciam fascinados pela pantomima da vida pública britânica, de modo que os Dewar iriam participar da comemoração. Foi um grupo grande que saiu da casa e tomou o rumo da Parliament Square. Enquanto percorria as ruas brumosas de Londres, Beep transferiu sua atenção de Dave para Jasper Murray. Jasper tinha 18 anos e parecia um viking: alto, ombros largos, cabelos louros. Estava usando um pesado paletó de tweed. Dave não via a hora de ser crescido e másculo como ele, e de ver Beep olhá-lo com aquela mesma expressão de admiração e desejo. Dave tratava Jasper como um irmão mais velho e havia pedido seu conselho: confessara-lhe que adorava Beep e não conseguia encontrar um jeito de conquistá-la. – Continue tentando – respondera Jasper. – Às vezes a simples persistência funciona. Dave agora podia ouvir a conversa dos dois. – Então você é primo de Dave? – perguntou Beep a Jasper enquanto atravessavam a Parliament Square. – Não exatamente – respondeu o rapaz. – Nós não somos parentes. – Então como você mora aqui sem pagar aluguel? – Minha mãe estudou com a mãe de Dave em Buffalo. Foi lá que elas conheceram o seu pai. Desde então, são todos amigos. Dave sabia que a história não era bem assim. Eva, mãe de Jasper, tivera de fugir da Alemanha nazista, e Daisy, mãe de Dave, a acolhera, com sua típica generosidade. Jasper, contudo, preferia minimizar o tamanho da dívida que sua família tinha para com os Williams. – O que você está estudando? – quis saber Beep. – Francês e alemão. Estou em St. Julian’s, um dos maiores colleges da Universidade de Londres. Mas o que mais faço é escrever para o jornal estudantil. Vou ser jornalista. Dave sentiu inveja. Ele jamais aprenderia francês nem estudaria na universidade. Era o
último da classe em tudo, para desespero do pai. – Onde estão seus pais? – perguntou Beep a Jasper. – Na Alemanha. Eles viajam pelo mundo com o Exército. Meu pai é coronel. – Coronel! – exclamou a adolescente, admirada. Evie, irmã de Dave, murmurou em seu ouvido: – O que essa vadiazinha pensa que está fazendo? Primeiro fica espichando o olho para você, depois paquera um cara cinco anos mais velho! Dave não comentou nada. Sabia que a irmã era apaixonada por Jasper. Poderia tê-la provocado, mas se conteve. Gostava dela, e além do mais era melhor guardar aquele tipo de informação para usar da próxima vez que ela o tratasse mal. – Não é preciso nascer aristocrata? – Beep estava perguntando. – Mesmo nas famílias mais antigas é preciso ter um primeiro nobre – respondeu Jasper. – Mas hoje em dia existem os nobres vitalícios, que não transmitem o título aos herdeiros. A Sra. Leckwith vai ser nobre vitalícia. – Vamos ter que fazer reverência para ela? Jasper riu. – Não, sua idiota. – A rainha vai assistir à cerimônia? – Não. – Que decepção! – Vaca burra – sussurrou Evie. Entraram no Palácio de Westminster pela Entrada dos Lordes. Foram recebidos por um homem em traje de corte completo, incluindo a calça curta na altura do joelho e as meias de seda. Dave ouviu a avó dizer em seu sotaque galês cadenciado: – Uniformes obsoletos são um sinal claro de uma instituição que precisa ser reformada. Dave e Evie frequentavam o prédio do Parlamento desde pequenos, mas para os Dewar aquela era uma experiência nova, e eles ficaram maravilhados. Beep se esqueceu de jogar charme para Jasper e exclamou: – Todas as superfícies são decoradas! Lajotas no chão, tapetes estampados, papéis de parede, forros de madeira, vitrais e pedra esculpida! Jasper a encarou com mais interesse. – É o típico estilo gótico vitoriano. – Ah, é? Dave estava começando a se irritar com o jeito como Jasper deixava Beep impressionada. O grupo se separou, e a maioria subiu vários lances de escada atrás de um guia até uma galeria da qual se via o plenário. Os amigos de Ethel já tinham chegado. Beep sentou-se ao lado de Jasper, mas Dave deu um jeito de ocupar o lugar do outro lado dela e Evie se acomodou junto ao irmão. Dave já tinha visitado inúmeras vezes a Câmara dos Comuns, situada no outro extremo do mesmo palácio, mas aquele ambiente era mais ornamentado e
tinha bancos de couro vermelho em vez de verdes. Após uma longa espera, houve uma movimentação lá embaixo e sua avó entrou em fila indiana com quatro outras pessoas, todas usando chapéus gozados e túnicas extremamente ridículas debruadas de pele. – Sensacional! – exclamou Beep, mas Dave e Evie riram baixinho. A procissão se deteve em frente a um trono e sua avó se ajoelhou, não sem alguma dificuldade, pois tinha 68 anos. Houve um grande passa-passa de pergaminhos que tiveram de ser lidos em voz alta. Daisy, mãe de Dave, explicava a cerimônia em voz baixa aos pais de Beep, o alto Woody e a roliça Bella, mas Dave não estava prestando atenção. Na verdade aquilo tudo era uma babaquice. Depois de algum tempo, Ethel e duas das pessoas que a acompanhavam sentaram-se em um dos bancos. Aí veio a parte mais engraçada de todas. Eles se sentaram, e imediatamente tornaram a se levantar. Tiraram os chapéus e fizeram uma reverência. Sentaram-se outra vez e recolocaram os chapéus na cabeça. Então repetiram tudo de novo, como três marionetes suspensas por cordões: levanta, tira o chapéu, reverência, senta, põe o chapéu de novo. A essa altura, Dave e Evie já quase não conseguiam mais segurar o riso. Então sua avó e os outros repetiram tudo uma terceira vez. Dave ouviu a irmã dizer, com a voz engasgada: – Parem, por favor, parem com isso! – o que o fez rir ainda mais. Daisy lhes lançou um olhar azul muito sério, mas ela própria era bem-humorada demais para não ver o lado engraçado daquilo, e no final acabou sorrindo também. Por fim, a cerimônia acabou e Ethel se retirou do plenário. Seus parentes e amigos se levantaram. Daisy os conduziu por um labirinto de corredores e escadas até uma sala no subsolo onde haveria a festa. Dave verificou que seu violão estava guardado direitinho em um canto. Ele e Evie iriam se apresentar, mas a estrela era ela; ele fazia apenas o acompanhamento. Em poucos minutos, a sala se encheu com cerca de cem pessoas. Evie encurralou Jasper e começou a lhe fazer perguntas sobre o jornal estudantil. Ele apreciava o assunto e respondeu com entusiasmo, mas Dave tinha certeza de que a paixonite da irmã era um caso perdido. Jasper era um rapaz que sabia cuidar dos próprios interesses. Naquele momento, tinha aposentos luxuosos, sem pagar aluguel, a uma curta viagem de ônibus d o college onde estudava. Na cínica opinião de Dave, não era provável que fosse desestabilizar esse confortável esquema iniciando um romance com a filha do casal que o hospedava. No entanto, Evie desviou a atenção de Jasper de Beep, deixando o caminho livre para Dave. Ele foi lhe buscar uma ginger beer e perguntou se ela havia gostado da cerimônia. Ethel chegou, agora com roupas normais: vestido vermelho, casaco no mesmo feitio e um pequeno chapéu pousado meio de banda sobre os cachos grisalhos. – Ela devia ser linda de morrer antigamente – sussurrou Beep.
Dave achou sinistro pensar na avó como uma mulher atraente. Ethel começou a falar: – É um prazer dividir este acontecimento com todos vocês. Só lamento que meu amado Bernie não tenha vivido para ver este dia. Ele foi o homem mais sensato que já conheci. – Bernie, avô de Dave, tinha morrido um ano antes. – É estranho ser chamada de Lady, principalmente para quem foi socialista a vida inteira – continuou ela, e todos riram. – Bernie decerto me perguntaria se eu derrotei meus inimigos ou simplesmente passei para o lado deles. Então vou lhes garantir uma coisa: eu entrei para a nobreza para abolir essa instituição. – Ouviram-se aplausos. – Estou falando sério, camaradas: abri mão do cargo de deputada por Aldgate porque pensei que estava na hora de alguém mais jovem assumir, mas não me aposentei ainda. Há injustiças demais em nossa sociedade, muitas moradias ruins e muita pobreza, muita fome pelo mundo... e pode ser que eu só tenha mais uns vinte ou trinta anos de campanha pela frente! – Mais risos. – O conselho que me deram foi que aqui, na Câmara dos Lordes, o mais sensato é escolher uma batalha e abraçá-la por inteiro, e eu já decidi qual vai ser a minha. Todos se calaram. As pessoas sempre queriam saber qual seria o próximo passo de Eth Leckwith. – Na semana passada, meu grande e velho amigo Robert von Ulrich morreu. Ele combateu na Primeira Guerra, teve problemas com os nazistas nos anos 1930 e acabou virando dono do melhor restaurante de Cambridge. Certa vez, quando eu era uma jovem costureira que trabalhava em um ateliê clandestino no East End, ele me pagou um vestido novo e me levou para jantar no Ritz. Além disso... – Ela empinou o queixo, desafiadora. – Além disso, ele era homossexual. Um sussurro audível de surpresa varreu a sala. – Caraca! – murmurou Dave. – Gostei da sua avó – falou Beep. As pessoas não estavam acostumadas a ver aquele assunto tratado de modo tão aberto, sobretudo por uma mulher. Dave sorriu. Sua avó era danada: depois de tantos anos, continuava dando trabalho. – Não precisam sussurrar, vocês na verdade nem estão chocados – disse ela, direta. – Todo mundo aqui sabe que existem homens que amam outros homens. Essas pessoas não fazem mal a ninguém. Pelo contrário! Na minha opinião, homens assim tendem a ser mais gentis do que os outros. Mas pelas leis do nosso país o que eles fazem é crime. E pior: inspetores de polícia à paisana se fazem passar por homens do mesmo tipo para fazê-los cair em armadilhas, prendê-los e jogá-los na cadeia. Penso que isso é tão ruim quanto perseguir as pessoas por serem judias, pacifistas ou católicas. Portanto, minha campanha aqui na Câmara dos Lordes vai ser a reforma das leis contra os homossexuais. Espero que todos vocês me desejem sorte. Obrigada. Ela recebeu aplausos entusiasmados. Dave imaginou que quase todo mundo ali naquela
sala de fato lhe desejava sorte. Ficou impressionado. Na sua opinião, prender veados era uma idiotice. A Câmara dos Lordes subiu no seu conceito: se ali era possível fazer campanha por aquele tipo de mudança, talvez o lugar não fosse totalmente ridículo. Por fim, Ethel falou: – E agora, em homenagem a nossos parentes e amigos americanos, uma música. Evie foi até a frente e Dave a seguiu. – Vovó é craque em dar às pessoas alguma coisa em que pensar – sussurrou Evie para o irmão. – E aposto que vai ter sucesso. – Em geral ela consegue o que quer. Ele pegou o violão e dedilhou a corda do sol. Evie começou a cantar na mesma hora. Ó, digam se podem ver, à luz nascente da aurora... Era o hino dos Estados Unidos. A maioria dos presentes era britânica, não americana, mas a voz de Evie fez todos prestarem atenção. O que com tanto orgulho anunciamos ao último brilho do entardecer... Dave na verdade achava aquele orgulho nacionalista uma babaquice, mas mesmo assim ficou um pouco emocionado. A culpa era da canção. Cujas largas listras e radiantes estrelas, durante a perigosa luta, Por cima das muralhas nós vimos, tremulando tão valorosa. O silêncio no recinto era tal que Dave podia ouvir a própria respiração. Evie tinha esse dom: quando subia ao palco, todos ficavam vidrados. E o clarão vermelho do foguete, as bombas a explodir no ar Demonstraram noite adentro que nossa bandeira lá estava Dave olhou para a mãe e viu Daisy enxugar uma lágrima. Ó, digam se a bandeira estrelada ainda tremula Acima da terra dos livres e do lar dos bravos. Todos aplaudiram e gritaram elogios. Dave tinha de dar crédito à irmã: Evie às vezes podia ser um pé no saco, mas tinha o dom de enfeitiçar uma plateia. Ele pegou outra ginger beer e olhou em volta à procura de Beep, mas não a viu na sala. Viu seu irmão mais velho, Cameron, que era um nojo. – Oi, Cam. Cadê a Beep? – Deve ter saído para fumar – respondeu o outro rapaz. Dave imaginou se conseguiria encontrá-la. Resolveu sair à sua procura. Pousou o copo. Chegou à saída ao mesmo tempo que a avó, então segurou a porta para ela passar. Ethel decerto estava a caminho do toalete feminino: ele tinha uma vaga noção de que as mulheres mais velhas faziam muito xixi. Ela sorriu para o neto e começou a subir uma escadaria coberta por um carpete vermelho. Como ele não sabia onde estava, foi atrás. No patamar intermediário, Ethel foi abordada por um senhor de idade apoiado em uma bengala. Dave reparou que ele usava um terno elegante de risca de giz cinza-claro. Um lenço
de seda estampado despontava do bolso da frente de seu paletó. Tinha o rosto todo manchado e cabelos brancos, mas era óbvio que já tinha sido um homem bonito. – Parabéns, Ethel – disse ele, apertando a mão de sua avó. – Obrigada, Fitz. Os dois pareciam se conhecer bem. Ele não soltou a mão dela. – Quer dizer que você agora é baronesa. Ela sorriu. – A vida não é estranha? – Fico pasmo. Como eles estavam impedindo a passagem, Dave ficou parado, esperando. Embora as palavras fossem triviais, um arrebatamento permeava a conversa. Dave não conseguiu identificar muito bem o que era. – Não lhe incomoda o fato de sua governanta ter ganhado um título de nobreza? – indagou ela. Governanta? Dave sabia que a avó começara a vida como empregada em uma mansão do País de Gales. Aquele homem devia ter sido seu patrão. – Parei de me importar com esse tipo de coisa há muito tempo – respondeu o homem. Depois de dar alguns tapinhas carinhosos na mão de Ethel, ele a soltou. – Durante o governo Attlee, para ser exato. Ethel riu. Estava claro que gostava de conversar com ele. Havia uma corrente subjacente poderosa em sua conversa, nem amor nem ódio, mas alguma outra coisa. Se os dois não fossem tão velhos, Dave teria pensado que fosse sexo. Já impaciente, ele pigarreou. – Este é meu neto, David Williams – apresentou ela. – Se você parou mesmo de se importar, talvez queira apertar a mão dele. Dave, esse é o conde Fitzherbert. O conde hesitou e por um instante Dave pensou que fosse recusar o cumprimento, mas então pareceu se decidir e estendeu-lhe a mão. Dave a apertou e perguntou: – Como vai? – Obrigada, Fitz – disse Ethel. Ou melhor, quase disse, mas pareceu engasgar antes de completar a frase. Sem falar mais nada, seguiu em frente. Educado, Dave meneou a cabeça para o velho conde e foi atrás dela. Instantes depois, Ethel desapareceu por uma porta na qual se lia “Damas”. Dave imaginou que devia ter havido alguma história entre sua avó e Fitz. Decidiu perguntar à mãe. Então viu uma saída que talvez fosse dar do lado de fora e esqueceu por completo os mais velhos. Passou pela porta e se viu em um pátio interno de formato irregular, cheio de latas de lixo. Seria o lugar perfeito para uns amassos discretos, pensou. Não era passagem, nenhuma janela dava para lá, e era cheio de cantinhos esquisitos. Sua esperança aumentou. Não viu sinal de Beep, mas sentiu cheiro de fumaça de cigarro.
Passou pelas latas de lixo e olhou pela quina. Ela estava ali, como ele esperava que estivesse, e segurava um cigarro na mão esquerda. Mas estava com Jasper, e os dois estavam agarrados em um abraço. Dave os encarou. Seus dois corpos pareciam colados um no outro e eles se beijavam com sofreguidão, a mão direita dela no meio dos cabelos dele, a direita dele sobre seu seio. – Jasper Murray, seu patife traidor – disse Dave antes de dar meia-volta e entrar de novo no prédio.
Na montagem escolar de Hamlet, Evie Williams sugeriu interpretar nua a cena da loucura de Ofélia. Essa simples ideia fez Cameron Dewar sentir um calor desconfortável. Cameron tinha adoração por Evie. Só detestava suas opiniões. Ela defendia qualquer causa apelativa que saísse nos jornais, da crueldade contra os animais ao desarmamento nuclear, e falava como se quem não fizesse o mesmo fosse obrigatoriamente bruto e estúpido. Mas Cameron estava acostumado: discordava da maioria das pessoas da sua idade e de todos os seus parentes. Seus pais eram liberais incorrigíveis e sua avó já havia sido editora de um jornal cujo título improvável era O Anarquista de Buffalo. A família Williams era igualmente ruim: todos de esquerda. O único outro residente da casa de Great Peter Street com um mínimo de bom senso era aquele aproveitador do Jasper Murray, que via tudo de modo mais ou menos cínico. Londres era um ninho de subversivos, pior ainda do que São Francisco, cidade natal de Cameron. Ele ficaria feliz quando a missão do pai acabasse e todos pudessem voltar para os Estados Unidos. Só que ficaria com saudades de Evie. Cameron tinha 15 anos e estava apaixonado pela primeira vez. Não queria viver um romance: tinha coisas de mais a fazer. No entanto, enquanto tentava decorar o vocabulário de francês e latim sentado em sua carteira escolar, pegou-se lembrando de Evie cantando o hino americano. Ela gostava dele, tinha certeza. Percebia que ele era inteligente e lhe fazia perguntas interessadas: como funcionavam as centrais nucleares? Hollywood era um lugar de verdade? Como os negros eram tratados na Califórnia? E o que era ainda melhor: escutava suas respostas com atenção, e não apenas por estar jogando conversa fora. Como ele, Evie não tinha o menor interesse por papo furado. Na fantasia de Cameron, os dois formariam um famoso casal de intelectuais. Naquele ano, Cameron e Beep estavam frequentando a mesma escola de Evie e Dave, um estabelecimento londrino progressista cuja maioria dos professores – até onde Cameron podia constatar – era comunista. A controvérsia relacionada à cena da loucura proposta por Evie rodou a escola em um piscar de olhos. O professor de teatro, Jeremy Faulkner, sujeito barbado que usava um cachecol listrado de universitário, aprovou a ideia. Mas o diretor não era tão
tolo assim e bateu o pé: nem pensar. Aquela era uma ocasião em que Cameron teria ficado contente em ver a decadência liberal prevalecer. As famílias Williams e Dewar foram juntas assistir à peça. Apesar de detestar Shakespeare, Cameron estava ansioso para ver do que Evie seria capaz no palco. A garota tinha um temperamento intenso que a presença de uma plateia parecia exacerbar. Segundo Ethel, sua neta era igual ao bisavô Dai Williams, pioneiro sindicalista e pregador evangélico. “Meu pai tinha nos olhos a mesma luzinha destinada à fama”, dissera Ethel. Cameron havia estudado Hamlet com atenção – do mesmo jeito que estudava tudo para tirar boas notas – e sabia que Ofélia era um papel notório por sua dificuldade. Supostamente patética, podia se tornar cômica com facilidade, com suas canções obscenas. Como uma menina de 15 anos poderia interpretar aquele papel e convencer uma plateia? Cameron não queria ver Evie passar vexame (embora, no fundo de sua mente, vivesse uma pequena fantasia na qual passava os braços em volta de seus ombros delicados e a reconfortava enquanto ela chorava por causa de seu humilhante fracasso). Com os pais e a irmã menor, Beep, ele entrou no auditório da escola, que também fazia as vezes de ginásio, de modo que recendia tanto a hinários empoeirados quanto a tênis molhados de suor. Eles se sentaram ao lado da família Williams: Lloyd, deputado trabalhista; sua esposa americana, Daisy; Eth Leckwith, a avó; e Jasper Murray, o jovem hóspede. Dave, irmão mais novo de Evie, estava em algum outro lugar organizando um bar que funcionaria no intervalo. Em várias ocasiões durante os últimos poucos meses, Cameron tinha ouvido a história de como sua mãe e seu pai haviam se encontrado pela primeira vez ali em Londres, durante uma festa dada por Daisy. Seu pai levara sua mãe em casa; toda vez que Woody contava a história, um brilho estranho surgia em seus olhos, e Bella lhe lançava um olhar que significava Cale essa droga dessa boca neste instante, e ele não dizia mais nada. Cameron e Beep se perguntavam, maliciosos, o que seus pais teriam feito no caminho. Alguns dias depois, seu pai tinha sido lançado de paraquedas na Normandia e sua mãe pensara que nunca mais o veria, mas mesmo assim rompera o noivado com outro homem. – Minha mãe ficou uma fera – dizia Bella. – Ela nunca me perdoou. Cameron achava os assentos do auditório desconfortáveis até mesmo para a meia hora de assembleia matinal. Aquela noite seria um verdadeiro purgatório. Sabia muito bem que a peça inteira durava mais de cinco horas, mas Evie lhe garantira que aquela era uma versão reduzida. Cameron se perguntou quão reduzida seria. – O que Evie vai usar na cena da loucura? – perguntou a Jasper, sentado ao seu lado. – Não sei – respondeu o rapaz. – Ela não quis contar a ninguém. As luzes se apagaram e a cortina subiu diante das ameias de Elsinore. As pinturas que constituíam o cenário eram obra de Cameron. Dono de uma forte sensibilidade visual decerto herdada do pai fotógrafo, ele estava particularmente satisfeito com o modo como a lua pintada escondia um canhão de luz mirado na sentinela.
Não havia mais grande coisa para se apreciar. Todas as montagens escolares que Cameron vira na vida eram horríveis, e aquela não seria nenhuma exceção. O menino de 17 anos que interpretava Hamlet tentava ser enigmático, mas só conseguia parecer engessado. Mas com Evie foi diferente. Na primeira cena em que aparecia, Ofélia tinha pouco a fazer além de ouvir a conversa entre o irmão condescendente e o pai pomposo, até no final alertar o irmão dizendo-lhe que não fosse hipócrita em um curto discurso que Evie recitou com um deleite irritado. Na segunda cena, porém, ao contar para o pai sobre como Hamlet, enlouquecido, tinha invadido seus aposentos pessoais, ela desabrochou. No início se mostrou frenética, depois ficou mais calma, mais calada e concentrada, até que a plateia mal parecia se atrever a respirar quando ela disse: “Ele deu um suspiro tão lamentável, tão profundo.” Então, na cena seguinte, quando Hamlet, enfurecido, tentava convencê-la a entrar para um convento, pareceu tão atarantada e magoada que Cameron teve vontade de pular para cima do palco e dar um soco no ator. Jeremy Faulkner havia tomado a sábia decisão de encerrar a primeira metade do espetáculo nesse ponto, e os aplausos foram estrondosos. No intervalo, Dave estava encarregado de um bar que vendia bebidas sem álcool e balas. Uma dezena de amigos seus serviam o mais depressa possível. Cameron ficou impressionado: nunca tinha visto alunos de escola trabalharem tão duro. – Deu algum remédio para eles? – perguntou a Dave enquanto pegava um copo de refrigerante de cereja. – Nada – respondeu Dave. – Só uma comissão de vinte por cento sobre tudo o que venderem. Cameron estava torcendo para Evie sair e falar com a família durante o intervalo, mas a garota ainda não tinha aparecido quando o sinal tocou anunciando o segundo ato, e ele voltou a seu lugar decepcionado, mas ansioso para ver o que ela faria a seguir. Hamlet melhorou quando teve de agredir Ofélia com piadas sujas na frente de todo mundo. Talvez aquele comportamento fosse natural para o ator, pensou Cameron, pouco gentil. O constrangimento e a perturbação de Ofélia aumentaram até as raias da histeria. Mas foi a cena da loucura que fez a casa vir abaixo. Ela entrou parecendo a paciente de um hospício, com uma camisola de algodão fino manchada e suja que só descia até o meio da coxa. Longe de inspirar pena, mostrou-se cruel e agressiva, como uma puta bêbada na rua. Quando disse: “A coruja era filha de um padeiro”, frase que, na opinião de Cameron, não queria dizer nada, conseguiu fazê-la soar como uma vil provocação. Cameron ouviu a mãe sussurrar para o pai: – Não acredito que essa menina tem só 15 anos. Na fala “Homens jovens talvez façam isso quando chegam ao limite, e a culpa é do pau”, Ofélia tentou agarrar os genitais do rei e arrancou risinhos nervosos da plateia. Então houve uma súbita mudança. Lágrimas rolaram por seu rosto, e sua voz se transformou
quase num sussurro quando ela falou no pai morto. A plateia silenciou. Ela virou novamente criança ao dizer: “Não posso senão chorar, ao pensar que eles vão enterrá-lo no chão frio.” Cameron sentiu vontade de chorar também. Ela então revirou os olhos, cambaleou e berrou, fora de si, com a mesma voz rascante de um velha bruxa: “Venha, meu coche!” Levou as duas mãos à gola da camisola e a rasgou na frente. A plateia arquejou. “Boa noite, senhoras!”, gritou, deixando a roupa cair no chão. Nua em pelo, ainda tornou a gritar: “Boa noite, boa noite, boa noite!” Então saiu correndo. Depois disso, a peça morreu. O coveiro não foi engraçado, e a luta de espadas do final, de tão artificial, chegou a ser tediosa. Cameron não conseguia pensar em outra coisa senão Ofélia nua delirando de loucura na boca de cena, os seios pequenos empinados, os pelos do púbis de um tom ruivo flamejante, uma linda moça que perdera a razão. Imaginou que todos os homens da plateia deviam estar sentindo a mesma coisa. Ninguém dava a mínima para Hamlet. Quando o pano caiu, os aplausos mais fortes foram para Evie. No entanto, o diretor não subiu ao palco para fazer os elogios rasgados e os extensos agradecimentos que em geral até mesmo a mais sofrível montagem de teatro amador recebia. Ao sair do auditório, todos olhavam para a família de Evie. Tentando não se deixar abater, Daisy conversava animadamente com outros pais. Já Lloyd, vestido com um severo terno cinza-escuro de três peças, não dizia nada, mas tinha o semblante sério. Eth Leckwith, avó de Evie, exibia um leve sorriso: talvez tivesse lá as suas reservas, mas não iria reclamar. A família de Cameron também exibiu reações diversas: Bella tinha os lábios franzidos de reprovação, e Woody sorria com um ar de tolerância bem-humorada. Beep estava quase explodindo de tanta admiração. – Sua irmã é um estouro – disse Cameron a Dave. – Também gosto da sua – retrucou Dave, sorrindo com ironia. – Ofélia roubou a cena de Hamlet! – Evie é um gênio – retrucou Dave. – Nossos pais ficam subindo pelas paredes. – Por quê? – Eles não acham que o mundo artístico seja um trabalho sério. Querem que nós dois entremos para a política. – Ele revirou os olhos. Woody Dewar entreouviu a conversa. – Eu tive o mesmo problema – comentou. – Meu pai era senador dos Estados Unidos, e meu avô também foi. Eles não conseguiam entender por que eu queria ser fotógrafo. Simplesmente não lhes parecia um trabalho de verdade. Woody agora trabalhava para a Life, decerto a melhor revista fotográfica do mundo depois da Paris Match. As duas famílias foram até as coxias. Evie saiu do camarim feminino com um ar bemcomportado, de twin set e saia abaixo dos joelhos, roupa obviamente escolhida para dizer: Eu não sou sexualmente exibida; aquela era Ofélia. No entanto, ostentava também uma expressão de discreto triunfo. O que quer que as pessoas dissessem sobre sua nudez, ninguém
podia negar que a sua atuação havia arrebatado a plateia. O primeiro a falar foi seu pai: – Só espero que você não seja presa por atentado ao pudor. – Na verdade eu não planejei aquilo – disse Evie, como se ele houvesse acabado de lhe fazer um elogio. – Foi meio que de última hora. Não sabia nem se a camisola iria rasgar. Até parece, pensou Cameron. Jeremy Faulkner apareceu, com o cachecol universitário que era sua marca registrada. Ele era o único professor que permitia aos alunos o chamarem pelo primeiro nome. – Foi sensacional! – elogiou. – Que instante memorável! Seus olhos brilhavam de animação. Ocorreu a Cameron que Jeremy também estava apaixonado por Evie. – Jerry, esses são meus pais, Lloyd e Daisy Williams – disse ela. O professor pareceu momentaneamente amedrontado, mas logo se recuperou. – Sra. Williams, Sr. Williams, vocês devem estar ainda mais surpresos do que eu – declarou, isentando-se habilmente de qualquer responsabilidade. – Precisam saber que Evie é a aluna mais brilhante que já tive. Ele apertou a mão de Daisy, em seguida a de Lloyd, que visivelmente relutou. – Você está convidado para a festa do elenco – disse Evie a Jasper. – Meu convidado de honra. – Festa? – indagou Lloyd, de testa franzida. – Depois daquilo? Na sua opinião, uma comemoração não era adequada. Daisy tocou seu braço. – Não tem problema – disse ela. Lloyd deu de ombros. – Só por uma hora – falou Jeremy, animado. – Amanhã é dia de aula! – Eu sou velho demais, me sentiria deslocado – observou Jasper. – Você é só um ano mais velho do que os alunos do último ano – protestou Evie. Cameron se perguntou por que diabo ela fazia questão da presença dele. Ele era mesmo velho demais. Já estava na universidade: uma festa de colegiais não era o seu lugar. Felizmente, Jasper concordou com ele. – Nos vemos em casa – falou, firme. – Não depois das onze, por favor – interpôs Daisy. Os pais foram embora. – Meu Deus, você conseguiu! – disse Cameron. Evie sorriu. – Eu sei. Todos comemoraram com café e bolo. Cameron desejou que Beep estivesse presente para pôr um pouco de vodca no café, mas como ela não participara da produção, já tinha ido para casa, assim como Dave.
Evie era o centro das atenções. Até o menino que havia interpretado Hamlet reconheceu que ela era a estrela da noite. Jeremy Faulkner não conseguia parar de falar sobre como a sua nudez havia expressado a vulnerabilidade de Ofélia. Seus elogios a Evie se tornaram constrangedores, e depois de algum tempo até meio sinistros. Paciente, Cameron aguardou e deixou que eles a monopolizassem, sabendo que o maior dos trunfos era seu: era ele quem a levaria para casa. Às dez e meia, foram embora. – Que bom que meu pai teve essa missão aqui em Londres – comentou Cameron enquanto os dois ziguezagueavam pelas ruas secundárias. – Detestei ter que sair de São Francisco, mas aqui é bem legal. – Que bom – disse Evie, sem animação. – E a melhor parte foi ter conhecido você. – Que gentil. Obrigada. – Isso realmente mudou a minha vida. – Até parece. A coisa não estava tomando o rumo que Cameron havia imaginado. Os dois estavam sozinhos nas ruas desertas, falando em voz baixa enquanto caminhavam bem juntinhos pelos círculos de luz dos postes e pelos trechos escuros, mas não havia sensação alguma de intimidade. Pareciam mais duas pessoas jogando conversa fora. Mesmo assim, ele não iria desistir. – Quero que sejamos amigos próximos – falou. – Nós já somos – respondeu ela, com certa impaciência na voz. Quando chegaram a Great Peter Street, ele ainda não tinha dito o que queria dizer. Ao se aproximarem da casa, parou. Como ela deu outro passo à frente, ele a segurou pelo braço. – Evie, estou apaixonado por você. – Ai, Cam, não seja ridículo. Cameron teve a sensação de ter levado um soco. Evie tentou seguir em frente. Cameron apertou um pouco mais seu braço, agora sem ligar para o fato de talvez a estar machucando. – Ridículo? – repetiu. Sua voz tremeu de modo constrangedor, e quando ele tornou a falar saiu mais firme. – Ridículo por quê? – Você não sabe de nada – disse ela, com irritação. Aquela acusação o deixou particularmente magoado. Cameron se orgulhava de saber muita coisa, e supusera que ela o apreciasse por isso. – Do que eu não sei? – indagou. Ela arrancou o braço da mão dele com um tranco violento. – Eu estou interessada no Jasper, seu idiota – falou antes de entrar em casa.
CAPÍTULO TREZE
De manhã, enquanto ainda estava escuro, Rebecca e Bernd transaram mais uma vez. Fazia três meses que os dois estavam morando juntos na velha casa no bairro de Mitte. Era uma sorte a casa ser grande, pois lá moravam também os pais de Rebecca, Werner e Carla, seus irmãos, Walli e Lili, e sua avó, Maud. Durante algum tempo, o amor os havia consolado de tudo o que tinham perdido. Estavam ambos desempregados e a polícia secreta os impedia de conseguir trabalho, apesar da desesperadora escassez de professores na Alemanha Oriental. Mas os dois estavam sendo investigados por parasitismo social, o crime de estar desempregado em um país comunista. Mais cedo ou mais tarde seriam condenados e presos. Bernd iria para um campo de trabalhos forçados, onde provavelmente morreria. Por isso planejavam fugir. Aquele era o último dia inteiro que passariam em Berlim Oriental. Quando Bernd deslizou a mão delicadamente por baixo da camisola de Rebecca, ela falou: – Estou nervosa demais. – Pode ser que não tenhamos muitas outras oportunidades. Ela o abraçou e apertou com força. Sabia que ele tinha razão. Os dois poderiam morrer tentando fugir. Ou pior: um poderia morrer e o outro, não. Bernd estendeu a mão para pegar um preservativo. Eles haviam combinado se casar quando chegassem ao mundo livre, e evitar a gravidez até lá. Se os seus planos dessem errado, Rebecca não queria criar um filho na Alemanha Oriental. Apesar de todos os medos que a atormentavam, ela foi tomada pelo desejo e reagiu com vigor ao toque de Bernd. A paixão era uma descoberta recente. Sua vida sexual com Hans fora razoavelmente agradável na maior parte das vezes, bem como as experiências com dois amantes anteriores, mas ela nunca se sentira inundada pelo desejo daquela forma, possuída por ele de maneira tão completa a ponto de esquecer todo o resto. Agora, a possibilidade de aquela ser a última vez tornou seu desejo ainda mais intenso. Ao fim, ele comentou: – Você é uma leoa. Ela riu. – Nunca fui assim antes. É por sua causa. – É por nossa causa – disse ele. – Somos certos um para o outro. Depois de recuperar o fôlego, ela falou: – Pessoas fogem todos os dias. – Ninguém sabe quantas.
Os fugitivos atravessavam canais e rios a nado, escalavam cercas de arame farpado, escondiam-se em carros e caminhões. Os alemães-ocidentais, que tinham autorização para entrar em Berlim Oriental, levavam passaportes falsos da Alemanha Ocidental para seus parentes. Soldados aliados podiam circular livremente, de modo que um morador da Alemanha Oriental comprou um uniforme americano em uma loja de fantasias para teatro e passou por um posto de controle sem ser interpelado. – E muitas morrem – completou Rebecca. Os guardas de fronteira não tinham dó nem vergonha: atiravam para matar. Às vezes, como lição para os outros, deixavam os feridos sangrarem até morrer. A pena por tentar sair do paraíso comunista era a morte. Rebecca e Bernd estavam planejando fugir pela Bernauer Strasse. Uma das sombrias ironias do Muro era que, em algumas ruas, os prédios ficavam em Berlim Oriental, mas a calçada ficava na parte ocidental. Ao abrirem suas portas no domingo, 13 de agosto de 1961, os moradores do lado leste da Bernauer Strasse tinham se deparado com uma cerca de arame farpado que os impedia de sair à rua. No início, muitos pularam das janelas dos andares mais altos rumo à liberdade, alguns se machucando, outros aterrissando em um cobertor providenciado pelos bombeiros de Berlim Ocidental. Agora, todos esses prédios tinham sido evacuados, e janelas e portas, lacradas com tábuas de madeira. O plano de Rebecca e Bernd era diferente. Eles se vestiram e foram tomar café da manhã com a família, provavelmente o último que tomariam em muito tempo. Foi uma tensa repetição da refeição feita em 13 de agosto do ano anterior, quando a família inteira estava triste e aflita: Rebecca planejava ir embora, mas não arriscando a vida. Dessa vez, eles estavam com medo. Ela tentou se mostrar animada. – Talvez um dia vocês todos nos sigam até o outro lado da fronteira – falou. – Você sabe que não vamos fazer isso – disse Carla. – Você precisa ir, não tem mais vida nenhuma aqui. Mas nós vamos ficar. – E o trabalho do papai? – Por enquanto, estou conseguindo levar – respondeu Werner. Ele não podia mais ir à sua fábrica, que ficava em Berlim Ocidental. Estava tentando administrá-la a distância, mas era quase impossível. Como não havia serviço telefônico entre as duas partes de Berlim, era obrigado a fazer tudo pelo correio, que sempre tinha a probabilidade de ser atrasado pelos censores. A situação era uma agonia para Rebecca. Sua família era a coisa mais importante do mundo, mas ela estava sendo forçada a abandoná-la. – Bem, não há muro que dure para sempre – disse ela. – Um dia Berlim será unificada outra vez, e então poderemos ficar juntos de novo. Alguém tocou a campainha e Lili pulou da mesa. – Espero que seja o carteiro com as contas da fábrica – disse Werner.
– Eu vou atravessar o Muro assim que puder – falou Walli. – Não vou passar a vida na parte oriental com algum velho comunista me dizendo que música tocar. – Você vai poder tomar sua própria decisão assim que for adulto – observou Carla. Lili voltou à cozinha com um ar amedrontado. – Não é o carteiro – falou. – É Hans. Rebecca deixou escapar um gritinho. Seu ex-marido não tinha como saber sobre seu plano de fugir, ou tinha? – Ele está sozinho? – indagou Werner. – Acho que sim. – Lembra o que fizemos com Joachim Koch? – perguntou Maud a Carla. Carla olhou para os filhos. Ficou claro que eles não deveriam saber o que as duas tinham feito com Joachim Koch. Werner foi até o armário da cozinha e abriu a gaveta de baixo, cheia de panelas pesadas. Puxou-a até o fim e a pôs no chão. Então enfiou a mão lá no fundo e trouxe de volta uma pistola preta com cabo marrom e uma pequena caixa de munição. – Meu Deus do céu – comentou Bernd. Rebecca não sabia grande coisa sobre armas, mas achava que aquilo fosse uma Walther P38. Seu pai a devia ter guardado depois da guerra. O que teria acontecido com Joachim Koch?, pensou. Será que ele fora morto? Por sua mãe? E por sua avó? – Se Hans Hoffmann tirar você desta casa, nós nunca mais vamos vê-la – disse Werner a Rebecca. Então começou a carregar a pistola. – Talvez ele não tenha vindo prender Rebecca – falou Carla. – É verdade – concordou seu marido. Virou-se para Rebecca. – Vá falar com ele. Descubra o que ele quer. Se precisar, grite. Rebecca se levantou. Bernd fez o mesmo. – Você não – disse-lhe Werner. – Se ele o vir, pode ficar com raiva. – Mas... – Papai tem razão – observou Rebecca. – Apenas fique a postos para me acudir se eu chamar. – Tudo bem. Rebecca respirou fundo, acalmou-se e foi até o hall. Hans estava postado lá com seu terno cinza-azulado novo, usando a gravata listrada que ela lhe dera de presente em seu último aniversário. – Eu trouxe os papéis do divórcio – disse ele. Rebecca assentiu. – Você estava esperando que eles chegassem, claro. – Podemos conversar sobre o assunto? – Tem alguma coisa a dizer?
– Talvez. Ela abriu a porta da sala de jantar, usada de vez em quando para jantares formais ou então para fazer os deveres de casa. Os dois entraram e se sentaram. Rebecca não fechou a porta. – Tem certeza de que é isso que você quer? – perguntou Hans. Rebecca estava com medo. Será que ele estava se referindo à fuga? Será que ele sabia? Conseguiu articular: – Isso o quê? – O divórcio. Ela não entendeu. – Por que não? É o que você quer, também. – Será? – Hans, o que você está tentando dizer? – Que nós não precisamos nos divorciar. Poderíamos começar de novo. Desta vez sem fingimento. Agora que você sabe que eu trabalho na Stasi, não haveria por que mentir. Aquilo parecia um sonho idiota em que coisas impossíveis acontecem. – Mas por quê? – indagou ela. Hans se inclinou para a frente por cima da mesa. – Você não sabe? Não consegue nem adivinhar? – Não, não consigo! – respondeu ela, embora começasse a vislumbrar uma sinistra suspeita. – Eu te amo – disse Hans. – Pelo amor de Deus! – gritou Rebecca. – Como você pode dizer uma coisa dessas? Depois de tudo o que fez? – Estou falando sério. No início eu estava fingindo, mas depois de um tempo percebi a mulher maravilhosa que você é. Eu quis me casar com você, não foi só por causa do trabalho. Você é linda, inteligente e dedicada ao magistério... Eu admiro a sua dedicação. Nunca conheci uma mulher como você. Rebecca, volte para mim... por favor. – Não! – exclamou ela. – Pense um pouco. Espere um dia. Uma semana. – Não! Apesar de ela gritar sua recusa o mais alto que podia, ele continuava agindo como se ela estivesse bancando a difícil e fingindo relutância. – Vamos tornar a conversar – falou, com um sorriso. – Não! – berrou ela. – Nunca! Nunca! Nunca! – E saiu correndo da sala. Toda sua família estava junto à porta aberta da cozinha com cara de assustada. – O que houve? – perguntou Bernd. – Ele não quer se divorciar – respondeu Rebecca, gemendo. – Está dizendo que me ama. Quer começar de novo... quer tentar outra vez! – Vou esganar esse filho da puta – falou Bernd.
Mas não houve necessidade alguma de contê-lo. Nesse instante, eles ouviram a porta da frente bater. – Ele foi embora – disse Rebecca. – Graças a Deus. Bernd a abraçou e ela enterrou o rosto em seu ombro. – Bem, por essa eu não esperava – falou Carla com a voz trêmula. Werner descarregou a pistola. – Essa história não acabou – afirmou Maud. – Hans vai voltar. Oficiais da Stasi acham que as pessoas comuns não podem lhes dizer não. – E eles têm razão – completou Werner. – Rebecca, vocês precisam ir embora hoje. Ela se afastou do abraço de Bernd. – Ah, não... hoje? – Agora – insistiu seu pai. – Você está correndo um perigo terrível. – Ele tem razão – falou Bernd. – Talvez Hans volte com reforços. Precisamos fazer agora mesmo o que estávamos planejando fazer amanhã de manhã. – Tudo bem – concordou Rebecca. Os dois subiram correndo a escada até seu quarto. Bernd vestiu seu terno preto de camurça com camisa branca e gravata preta, como se estivesse a caminho de um funeral. Rebecca também se vestiu toda de preto. Ambos calçaram sapatos esportivos pretos. Embaixo da cama, Bernd pegou uma corda de varal que havia comprado na semana anterior. Passou-a em volta do corpo como uma bandoleira, depois vestiu uma jaqueta de couro marrom por cima para escondê-la. Rebecca pôs um sobretudo escuro curto por cima do suéter preto de gola rulê e da calça preta. Em poucos minutos, os dois ficaram prontos. O resto da família os aguardava no hall. Rebecca abraçou e beijou cada um deles. Lili chorava. – Não deixe ninguém te matar – falou, aos soluços. Bernd e Rebecca calçaram luvas de couro e foram até a porta. Acenaram para a família mais uma vez, então saíram.
Walli os seguiu a uma curta distância. Queria ver como eles fariam. Os dois não haviam contado seu plano a ninguém, nem mesmo aos membros da família. Carla dizia que o único jeito de guardar um segredo era não dividi-lo com ninguém. Ela e Werner defendiam ardentemente essa opinião, o que fazia Walli desconfiar de que ela vinha das misteriosas experiências durante a guerra que seus pais nunca haviam explicado direito. O rapaz dissera aos outros que ia tocar no quarto. Em vez de violão, agora tocava guitarra. Quando não ouvissem barulho, seus pais imaginariam que ele estivesse praticando sem ligá-la
na tomada. Ele saiu pela porta dos fundos sem se fazer notar. Rebecca e Bernd caminhavam de braços dados. Andavam depressa, mas não tão apressados a ponto de chamar atenção. Eram oito e meia, e a bruma da manhã começava a se dissipar. Foi fácil para Walli seguir o casal, e ele podia ver o calombo que o varal fazia no ombro de Bernd. Nenhum dos dois olhou para trás, e os tênis que ele calçava não faziam ruído no chão. Reparou que os dois também estavam de tênis, e perguntou-se por quê. Sentia-se ao mesmo tempo animado e assustado. Que manhã espantosa! Quase caíra para trás ao ver o pai puxar aquela gaveta e sacar uma pistola. O coroa estava pronto para atirar em Hans Hoffmann! Talvez no fim das contas seu pai não fosse um velho bobo e caquético. Walli estava com medo pela irmã que tanto amava. Nos próximos minutos, ela poderia ser morta. Mas estava também empolgado: se ela podia fugir, ele também podia. Continuava decidido a ir embora. Após desafiar o pai desacatando suas ordens e indo à boate Minnesänger, acabara não ficando encrencado: segundo Werner, a destruição de seu violão já era punição suficiente. Mas ainda assim Walli sofria sob o jugo de dois tiranos, Werner Franck e o secretário-geral Walter Ulbricht, e pretendia se libertar de ambos na primeira oportunidade. Rebecca e Bernd chegaram a uma rua que conduzia direto ao Muro. Dava para ver dois guardas de fronteira no extremo oposto, batendo com as botas no chão para espantar a friagem da manhã. Traziam penduradas nos ombros submetralhadoras soviéticas PPSh-41 com carregamento de tambor. Walli não via qualquer chance de alguém escalar o arame farpado com aqueles dois olhando. Mas Rebecca e Bernd saíram da rua e entraram em um cemitério. Walli não pôde segui-los pelos caminhos entre as lápides: ficaria visível demais no espaço aberto. Caminhou rapidamente em um ângulo reto em relação à sua trajetória até chegar atrás da capela situada no meio do cemitério. Espiou pela quina do prédio. Eles obviamente não o tinham visto. Observou-os andar até o canto noroeste do cemitério. Lá havia uma cerca de aramado, e depois disso o quintal dos fundos de uma casa. Os tênis estão explicados, pensou Walli. Mas e o varal?
Apesar de os prédios da Bernauer Strasse estarem em ruínas, as ruas laterais ainda eram ocupadas normalmente. Rebecca e Bernd, tensos e amedrontados, esgueiraram-se pelo quintal dos fundos de uma casa em uma dessas vias adjacentes, a cinco portas do fim da rua, onde esta era interrompida pelo Muro. Escalaram uma segunda cerca, depois uma terceira, aproximando-se cada vez mais do Muro. Rebecca tinha 30 anos e era ágil, e Bernd, apesar de
ter 40 e poucos, estava em boa forma: fora treinador do time de futebol da escola. Os dois chegaram aos fundos da antepenúltima casa. Já tinham visitado o cemitério uma vez, igualmente vestidos de preto para se fazer passar por um casal enlutado, mas seu verdadeiro objetivo fora examinar as construções. A visão não fora perfeita e eles não podiam se dar ao luxo de usar binóculos, mas tinham quase certeza de que a antepenúltima casa proporcionaria uma rota possível até o telhado. Um telhado conduzia a outro, e finalmente ia dar nos prédios vazios da Bernauer Strasse. Agora que estava mais próxima, Rebecca ficou ainda mais apreensiva. Eles tinham planejado subir por um depósito de carvão baixo, depois por um barracão de telhado chato, e enfim por um beiral com um peitoril de janela saliente. Só que, do cemitério, todas as alturas davam a impressão de ser menores. De perto, a escalada parecia gigantesca. Não podiam entrar na casa, pois havia o risco de os moradores darem o alarme. Se não o fizessem, seriam severamente punidos depois. Os telhados úmidos de orvalho deviam estar escorregadios, mas pelo menos não chovia. – Está pronta? – perguntou Bernd. Não. Ela estava aterrorizada, isso sim. – Caramba, estou – respondeu. – Você é uma leoa. O depósito de carvão batia na altura do peito. Eles subiram nele. Seus sapatos macios quase não fizeram barulho. Dali, Bernd apoiou os dois cotovelos na borda do telhado chato do barracão e içou-se até lá em cima. Deitado de bruços, estendeu a mão e puxou Rebecca. Ambos ficaram em pé no telhado. Rebecca sentia-se muito exposta e ficou tonta, mas ao olhar em volta não viu ninguém a não ser uma silhueta distante no cemitério. A parte seguinte era um desafio. Bernd pôs um joelho no peitoril da janela, mas o espaço era estreito demais. Felizmente, as cortinas estavam fechadas, assim ninguém que porventura estivesse lá dentro conseguiria ver nada, a menos que escutasse algum barulho e fosse investigar. Com certa dificuldade, conseguiu subir o outro joelho até o peitoril. Apoiado no ombro de Rebecca, conseguiu ficar em pé. Com os pés agora bem plantados apesar do peitoril estreito, ajudou-a a subir. Ela se ajoelhou na saliência e tentou não olhar para baixo. Bernd estendeu a mão para a beirada oblíqua do telhado inclinado, a etapa seguinte de sua escalada. De onde estava, não podia subir no telhado: a única coisa que havia para se segurar era a borda de uma telha. Eles já tinham conversado sobre esse problema. Ainda ajoelhada, Rebecca se preparou. Bernd apoiou um dos pés sobre seu ombro direito. Segurando-se na beira do telhado para se equilibrar, apoiou todo o peso do corpo em cima dela. Doeu, mas ela aguentou firme. Instantes depois, ele colocou o pé esquerdo em seu ombro esquerdo. Assim equilibrado, ela podia sustentá-lo – por alguns segundos. Um instante depois, ele passou a perna pela beirada das telhas e rolou para cima do
telhado. Espichou bem os braços e pernas para aumentar o máximo possível a aderência, então estendeu a mão para baixo. Com uma das mãos enluvadas, segurou firme a gola do casaco de Rebecca, enquanto ela se agarrava ao seu braço. De repente, as cortinas foram abertas e um rosto de mulher encarou Rebecca a poucos centímetros de distância. A mulher gritou. Com esforço, Bernd ergueu Rebecca até ela conseguir passar a perna pela borda inclinada do telhado, e então a puxou na sua direção até um lugar seguro. Mas os dois perderam aderência e começaram a escorregar. Rebecca abriu os braços e pressionou nas telhas as palmas das mãos enluvadas para tentar frear a queda. Bernd fez o mesmo. No entanto, continuaram a deslizar, lenta mas regularmente, até os tênis de Rebecca tocarem uma calha de ferro. Apesar de não parecer sólida, a estrutura aguentou, e ambos pararam. – Que grito foi aquele? – perguntou Bernd, aflito. – Uma mulher lá no quarto me viu. Mas não sei se deu para escutar o grito dela da rua. – Mas ela pode dar o alarme. – Não há nada que possamos fazer. Vamos em frente. Moveram-se de lado pela superfície inclinada. As casas eram antigas, e algumas das telhas estavam quebradas. Rebecca tentou não apoiar o peso na calha que seus pés tocavam. Eles foram avançando a uma velocidade tão lenta que chegava a dar agonia. Ela imaginou a mulher da janela falando com o marido: “Se não fizermos nada, seremos acusados de colaboração. Podemos dizer que estávamos ferrados no sono e não ouvimos nada, mas eles provavelmente vão nos prender mesmo assim. E, mesmo se chamarmos a polícia, eles ainda podem nos prender por suspeita. Quando as coisas dão errado, eles prendem todo mundo em volta. É melhor ficarmos quietos. Vou fechar as cortinas de novo.” Pessoas comuns evitavam qualquer contato com a polícia, mas talvez a mulher da janela não fosse comum. Se ela ou o marido fossem membros do Partido, se tivessem um bom emprego e gozassem de privilégios, teriam algum grau de imunidade e não seriam importunados pela polícia, e nessas circunstâncias sem dúvida alguma dariam o alarme e começariam a gritar. Entretanto, os segundos foram passando e Rebecca não ouviu nenhum barulho de alarme. Talvez ela e Bernd tivessem conseguido passar incólumes. Chegaram a um ângulo do telhado. Apoiando os pés nas duas águas, Bernd conseguiu rastejar para cima até alcançar a cumeeira com as mãos. Agora tinha mais apoio, embora corresse o risco de as pontas de seus dedos cobertos pelas luvas escuras serem vistas pela polícia na rua. Ele dobrou a quina e seguiu rastejando, a cada segundo mais perto da Bernauer Strasse e da liberdade.
Rebecca foi atrás. Imaginando se alguém podia vê-los, olhou por cima do ombro. Suas roupas escuras não se destacavam sobre as telhas cinzentas, mas eles não estavam invisíveis. Será que tinha alguém olhando? Ela podia ver os quintais dos fundos e o cemitério. A silhueta escura que vira ali um minuto antes estava agora correndo da capela em direção ao portão. Um medo pesado feito chumbo gelou seu estômago. Será que aquela pessoa os tinha visto e estava correndo para avisar à polícia? Por alguns segundos sentiu pânico, mas então percebeu que a silhueta era conhecida. – Walli? – indagou. Que droga seu irmão estava fazendo? Era óbvio que tinha seguido os dois. Mas para quê? E para onde estava correndo com tanta pressa? Ela não tinha como evitar se preocupar. Eles chegaram à parede dos fundos do prédio de apartamentos na Bernauer Strasse. As janelas estavam lacradas com tábuas. Bernd e Rebecca tinham falado em quebrar as tábuas para entrar e depois quebrar outra série de tábuas na frente para sair, mas acabaram concluindo que seria barulhento, demorado e difícil demais. O mais fácil, pensaram, seria passar por cima do prédio. A cumeeira do telhado em que estavam ficava no mesmo nível das calhas do prédio contíguo, mais alto, de modo que eles poderiam facilmente passar de um telhado para o outro. A partir de então, ficariam claramente visíveis para os guardas armados com submetralhadoras na rua lateral lá embaixo. Aquele era o seu momento mais vulnerável. Bernd rastejou telhado acima até a cumeeira, passou por cima desta, então pisou no telhado mais alto do prédio de apartamentos e começou a avançar em direção ao alto. Rebecca foi atrás. Estava ofegante agora. Havia machucado os joelhos, e tinha os ombros doloridos nos pontos em que Bernd havia pisado. Quando estava passando pela cumeeira do telhado mais baixo, olhou para a rua. A proximidade dos policiais a deixou alarmada. Estavam acendendo cigarros; se um deles erguesse os olhos, tudo estaria perdido. Tanto ela quanto Bernd seriam alvos fáceis para suas submetralhadoras. Mas só uns poucos passos os separavam da liberdade. Ela se preparou para rastejar até o outro telhado na sua frente, mas algo se moveu sob seu pé esquerdo. O tênis resvalou e ela caiu. Ainda estava a cavalo sobre a cumeeira, e o impacto a machucou entre as pernas. Ela soltou um grito abafado, inclinou-se de lado vertiginosamente por um instante de horror, então recuperou o equilíbrio. Infelizmente, a causa de seu tropeço, uma telha solta, escorregou pelo telhado, quicou na calha e caiu lá na rua, onde se espatifou com grande alarde. Os policiais ouviram o barulho e olharam para os cacos sobre a calçada. Rebecca congelou. Os policiais olharam em volta. A qualquer segundo se dariam conta de onde a telha devia
ter caído e olhariam para cima. Antes de o fazerem, contudo, um deles foi atingido por uma pedra. Um segundo depois, Rebecca ouviu a voz do irmão gritar: – Os policiais são todos uns escrotos!
Walli catou outra pedra e a jogou nos policiais. Dessa vez, errou. Provocar policiais da Alemanha Oriental era um ato burro e suicida, ele sabia. Corria o risco de ser preso, espancado e encarcerado. Mas tinha de fazê-lo. Podia ver que Rebecca e Bernd estavam muito expostos. Os policiais iriam vê-los a qualquer instante, e nunca hesitavam em atirar nos fugitivos. O alcance era curto, uns 15 metros. Ambos ficariam crivados de balas de submetralhadora em poucos segundos. A menos que algo pudesse distrair os policiais. Os dois eram mais velhos do que Walli. Ele tinha 16 anos, e aqueles rapazes pareciam ter uns 20. Estavam olhando em volta, com os cigarros que haviam acabado de acender pendurados na boca, sem conseguir entender por que uma telha tinha se espatifado e duas pedras sido lançadas. – Seus porcalhões! – berrou Walli. – Seus merdas! Filhos da puta! Eles então o identificaram, a uns 100 metros de distância, visível apesar da névoa. Assim que o distinguiram, começaram a avançar na sua direção. Ele recuou. Os policiais começaram a correr. Walli virou as costas e fugiu. No portão do cemitério, olhou para trás. Um dos rapazes tinha parado, sem dúvida ao perceber que não deviam ambos abandonar o posto no Muro para perseguir alguém que apenas lhes jogara pedras. Ainda não tinham parado para pensar por que alguém faria algo tão temerário. O segundo policial se ajoelhou e mirou com a arma. Walli entrou no cemitério.
Bernd amarrou a corda de varal em volta de uma chaminé de tijolos, retesou-a e deu um nó bem firme. Deitada na cumeeira do telhado, Rebecca olhava para baixo, ofegante. Podia ver um dos policiais correndo pela rua atrás de Walli, e o irmão correndo pelo cemitério. O segundo policial já estava voltando para seu posto, mas felizmente não parava de olhar para trás, conferindo a situação do colega. Rebecca não sabia se deveria ficar aliviada ou horrorizada com o fato de o irmão estar arriscando a vida para distrair a atenção da polícia pelos cruciais segundos seguintes.
Olhou para o outro lado, na direção do mundo livre. Na Bernauer Strasse, do outro lado da rua, um casal a observava e conversava animadamente. Segurando a corda, Bernd sentou-se e escorregou sobre o traseiro pela superfície oeste do telhado até a beirada. Então passou a corda duas vezes em volta do peito e debaixo dos braços, deixando uma sobra comprida, de uns 15 metros. Agora, sustentado pela corda amarrada à chaminé, podia se inclinar pela beirada do telhado. Tornou a ir até onde estava Rebecca e passou por cima da cumeeira. – Sente-se – instruiu. Amarrou a ponta livre da corda em volta dela e deu um nó. Segurou a corda com firmeza nas mãos enluvadas. Rebecca deu uma última olhada para Berlim Oriental. Viu Walli escalar com agilidade a cerca do lado mais afastado do cemitério. A silhueta de seu irmão atravessou uma via larga e desapareceu em uma rua lateral. O policial desistiu e deu meia-volta. Então o rapaz olhou para cima por acaso, em direção ao telhado do prédio de apartamentos, e seu queixo caiu de espanto. Rebecca não teve dúvidas quanto ao que ele tinha visto: ela e Bernd encarapitados no alto do telhado, bem destacados contra o céu. O policial gritou, apontou e começou a correr. Rebecca rolou para fora da cumeeira e escorregou devagar pela superfície inclinada do telhado até seus tênis tocarem a calha na beirada. Ouviu uma rajada de metralhadora. Bernd se levantou ao seu lado, preso pela corda amarrada à chaminé, e se preparou. Rebecca o sentiu sustentar seu peso. Agora, pensou. Ela rolou por cima da calha e caiu no vazio. A corda se retesou dolorosamente em volta de seu peito e acima dos seios. Ela ficou pendurada no ar por alguns instantes, então Bernd foi soltando a corda e ela começou a descer em pequenos trancos. Os dois haviam treinado aquilo na casa de seus pais. Bernd a fizera saltar da janela mais alta até o quintal dos fundos. Suas mãos doíam, dissera, mas, se estivesse com boas luvas, ele conseguiria. Mesmo assim, disse-lhe para fazer pausas breves sempre que pudesse apoiar o peso em um parapeito de janela para lhe dar alguns segundos de descanso. Ela ouviu gritos de incentivo, e calculou que já houvesse pessoas reunidas na Bernauer Strasse, do lado ocidental do Muro. Lá embaixo, pôde ver a calçada e o arame farpado que margeava a fachada do prédio. Será que já estava em Berlim Ocidental? A polícia de fronteira atirava em qualquer um do lado oriental, mas tinha rígidas instruções para não disparar no lado ocidental, pois os soviéticos não queriam nenhum incidente diplomático. No entanto, ela estava suspensa exatamente acima do arame farpado, nem em um país nem no outro.
Ouviu outra rajada de metralhadora. Onde estariam os policiais, e em quem estariam atirando? Imaginou que eles fossem tentar subir no telhado e atirar nela e em Bernd antes que fosse tarde demais. Se usassem o mesmo caminho dos fugitivos, não chegariam a tempo. Mas decerto poderiam ir mais depressa entrando no prédio e simplesmente subir correndo a escada. Ela estava quase lá. Seus pés tocaram o arame farpado. Tentou se afastar do prédio, mas não conseguiu livrar as pernas do arame por completo. Sentiu as farpas rasgarem sua calça e ferirem dolorosamente a pele. Então pessoas se juntaram à sua volta para ajudá-la, sustentaram seu peso, desembaraçaram-na do arame farpado, desamarraram a corda em volta de seu peito e a puseram no chão. Assim que sentiu os pés firmes, ela olhou para cima. Na beira do telhado, Bernd estava afrouxando a corda do peito. Ela deu um passo para trás de modo a poder ver melhor. Os policiais ainda não tinham chegado ao telhado. Bernd segurou firme a corda com as duas mãos e desceu do telhado de costas. Foi se abaixando devagar junto à parede, deixando a corda deslizar pelas mãos conforme descia. Era muito difícil, pois todo o seu peso estava sustentado pelas mãos na corda. Ele havia treinado em casa e descido escalando a parede dos fundos, à noite, quando ninguém podia vê-lo. Mas aquele prédio era mais alto. As pessoas na rua gritaram incentivos. Então um policial apareceu no telhado. Bernd desceu mais depressa, afrouxando a corda para poder ganhar velocidade. – Peguem um cobertor! – gritou alguém. Rebecca sabia que não havia tempo para isso. O policial mirou a submetralhadora em Bernd, mas hesitou. Não podia atirar na Alemanha Ocidental. Poderia acertar outras pessoas. Aquele era o tipo de incidente capaz de desencadear uma guerra. O rapaz se virou e olhou para a corda em volta da chaminé. Poderia desamarrá-la, mas Bernd chegaria ao chão antes disso. Será que o policial tinha uma faca? Aparentemente não. Foi então que ele teve uma inspiração. Encostou o cano da arma na corda esticada e disparou uma única rajada. Rebecca gritou. A corda se partiu e a ponta voou no ar acima da Bernauer Strasse. Bernd despencou feito uma pedra. As pessoas se afastaram. Bernd acertou a calçada com um baque assustador. Então ficou imóvel.
Três dias depois, Bernd abriu os olhos, viu Rebecca e disse: – Oi. – Ai, graças a Deus! – exclamou ela. Quase enlouquecera de tanta preocupação. Os médicos tinham lhe dito que ele recobraria a consciência, mas ela só conseguiria acreditar quando visse. Ele havia passado por várias cirurgias, e nos intervalos fora fortemente medicado. Aquela era a primeira vez que ela via uma expressão coerente em seu rosto. Tentando não chorar, inclinou-se por cima da cama de hospital e lhe deu um beijo na boca. – Você voltou. Que coisa boa! – O que houve? – perguntou ele. – Você caiu. Ele assentiu. – Do telhado. Eu me lembro. Mas... – O policial atirou na sua corda. Ele baixou os olhos para o próprio corpo. – Estou engessado? Ela vinha ansiando por vê-lo acordar, mas também estava apreensiva com aquele instante. – Da cintura para baixo – respondeu. – Eu... não consigo mexer as pernas. Não consigo senti-las. – Uma expressão de pânico se estampou em seu rosto. – Eles amputaram minhas pernas? – Não. – Rebecca respirou fundo. – Você quebrou quase todos os ossos das pernas, mas não consegue senti-las porque a sua medula foi parcialmente rompida. Ele passou um longo tempo pensando, então perguntou: – E vai sarar? – Segundo os médicos, os nervos podem se reconstituir, mas vai ser demorado. – Então... – Então talvez algum dia você recobre algumas das funções abaixo da cintura. Mas quando sair do hospital vai ser de cadeira de rodas. – Eles disseram por quanto tempo? – Eles disseram... – Ela teve de se esforçar para não chorar. – Você precisa se preparar para a possibilidade de isso ser permanente. Ele olhou para o outro lado. – Fiquei aleijado. – Mas nós agora somos livres! Você está em Berlim Ocidental. Nós escapamos. – Eu escapei para uma cadeira de rodas. – Não pense assim. – Que porcaria eu vou poder fazer? – Já pensei nisso. – Ela falou com voz firme, confiante, bem mais do que realmente se
sentia. – Você vai se casar comigo e voltar a lecionar. – Não é muito provável. – Já telefonei para Anselm Weber. Lembra que ele agora é diretor de uma escola em Hamburgo? Ofereceu trabalho para nós dois a partir de setembro. – Um professor de cadeira de rodas? – Que diferença faz? Você ainda vai ser capaz de explicar questões de física até para o aluno mais burro da turma. Não precisa de pernas para isso. – Você não quer se casar com um aleijado. – Não, eu quero me casar com você. E vou! O tom dele se tornou mais amargo: – Você não pode se casar com um homem sem função nenhuma abaixo da cintura. – Escute aqui – retrucou ela, arrebatada. – Três meses atrás eu não sabia o que era o amor. Acabei de encontrar você, e não vou perdê-lo. Nós fugimos, sobrevivemos, e vamos viver. Vamos nos casar, trabalhar em uma escola e nos amar. – Não sei. – Eu só quero uma coisa de você: que não perca as esperanças. Vamos enfrentar juntos as dificuldades, e vamos resolver juntos qualquer problema que surgir. Eu posso aguentar qualquer dificuldade desde que tenha você comigo. Me prometa, Bernd Held, que nunca vai desistir. Nunca. Houve uma pausa demorada. – Prometa – repetiu ela. Ele sorriu. – Você é uma leoa.
Foi com certa cautela que George almoçou no Electric Diner com Larry Mawhinney. Não tinha certeza do que levara Larry a marcar aquele encontro, mas a curiosidade o fizera concordar. Os dois tinham a mesma idade e empregos parecidos: Larry era assessor no gabinete do general Curtis LeMay, chefe do Estado-Maior da Força Aérea. Mas os seus respectivos chefes tinham opiniões divergentes: os irmãos Kennedy não confiavam nos militares. Larry estava usando um uniforme de tenente da Força Aérea. Tinha os traços característicos de um soldado: a barba bem-feita, cabelos cortados à escovinha, a gravata presa com um nó bem apertado e os sapatos engraxados até ficarem reluzentes. – O Pentágono detesta segregação – disse ele. George arqueou as sobrancelhas. – É mesmo? Pensei que o Exército tradicionalmente relutasse em dar armas a negros. Mawhinney ergueu a mão em um gesto conciliador. – Entendo o que você quer dizer. Mas, em primeiro lugar, essa atitude foi sempre superada pela necessidade: desde a Guerra da Independência, os negros combateram em todos os conflitos nacionais. Em segundo lugar, isso faz parte do passado. O Pentágono hoje precisa de homens de cor nas Forças Armadas. E não queremos nem as despesas nem a ineficiência da segregação: dois conjuntos de sanitários, duas alas de alojamentos, preconceito e ódio entre homens que supostamente deveriam estar lutando lado a lado. – Muito bem, estou convencido – falou George. Larry cortou um pedaço de seu sanduíche de queijo quente e George comeu uma garfada de seu chili con carne. – Quer dizer que Kruschev conseguiu o que queria em Berlim – comentou Larry. George sentiu que aquele era o verdadeiro tema do almoço. – Graças a Deus não vamos ter de entrar em guerra contra os soviéticos – falou. – Kennedy amarelou – disse Larry. – O regime da Alemanha Oriental estava à beira do colapso. Se o presidente tivesse tido uma atitude mais firme, poderia ter havido uma contrarrevolução. Mas o Muro estancou o derrame de refugiados para o Ocidente, e agora os soviéticos podem fazer o que quiserem em Berlim Oriental. Nossos aliados na Alemanha Ocidental estão revoltados. – O presidente evitou a Terceira Guerra Mundial! – disse George, indignado. – E o preço foi deixar os soviéticos aumentarem sua influência. Não foi exatamente uma vitória. – É isso que o Pentágono acha? – Em resumo, sim.
Claro, pensou George com irritação. Agora ele entendia: Mawhinney estava ali para defender o ponto de vista do Pentágono na esperança de conquistar seu apoio. Eu deveria me sentir lisonjeado, pensou. Isso mostra que as pessoas agora me consideram parte do círculo íntimo de Bobby. Só que ele não iria escutar um ataque ao presidente Kennedy sem revidar. – Imagino que não devesse esperar nada diferente do general LeMay. O apelido dele não é LeMay das Bombas? Mawhinney franziu a testa. Se achava engraçado o apelido de seu chefe, não iria demonstrar. Na opinião de George, o autoritário LeMay, sempre com um charuto na boca, merecia ser alvo de chacota. – Acho que ele um dia falou que, se houvesse uma guerra nuclear e no final sobrassem dois americanos e um russo, nós teríamos vencido. – Nunca o ouvi dizer nada desse tipo. – Parece que o presidente Kennedy respondeu: “É bom você torcer para que esses dois americanos sejam de sexos diferentes.” – Nós precisamos ser fortes! – exclamou Mawhinney, começando a se deixar irritar. – Já perdemos Cuba, o Laos e Berlim Oriental, e agora corremos o risco de perder o Vietnã. – O que você imagina que possamos fazer em relação ao Vietnã? – Mandar o Exército – respondeu Larry sem pestanejar. – Já não temos milhares de consultores militares por lá? – Não é suficiente. O Pentágono já pediu várias vezes ao presidente para mandar tropas terrestres. Mas ele não parece ter coragem para tanto. O comentário incomodou George; era uma injustiça. – O que não falta ao presidente é coragem – disparou. – Então por que ele não ataca os comunistas no Vietnã? – Porque não acha que possamos ganhar. – Ele deveria escutar os generais experientes, que entendem do assunto. – Será? Foram eles que o aconselharam a apoiar aquela invasão idiota da Baía dos Porcos. Se o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas tem experiência e entende do assunto, como é que não disse ao presidente que uma invasão por exilados cubanos estava fadada ao fracasso? – Nós avisamos a ele para mandar cobertura aérea... – Larry, me desculpe, mas a ideia era justamente evitar o envolvimento dos americanos. Apesar disso, assim que as coisas começaram a dar errado, o Pentágono quis despachar os fuzileiros navais. Os irmãos Kennedy estão desconfiados de que foi fogo amigo: vocês os atraíram para uma invasão de exilados fadada ao fracasso porque queriam forçá-los a despachar tropas americanas. – Isso não é verdade.
– Pode ser, mas o presidente acha que agora vocês estão tentando atraí-lo para o Vietnã usando o mesmo método. E está decidido a não se deixar enganar uma segunda vez. – Certo, então ele está implicando conosco por causa da Baía dos Porcos. Sério, George, isso é razão suficiente para deixar o Vietnã virar comunista? – Bem, temos aqui um típico desacordo de cavalheiros. Mawhinney largou o garfo e a faca. – Vai querer sobremesa? Percebeu que estava perdendo tempo: George jamais se aliaria ao Pentágono. – Não, obrigado – respondeu George. Ele estava trabalhando com Bobby para lutar por justiça, para que seus filhos pudessem crescer como cidadãos americanos com direitos iguais. Alguma outra pessoa teria de combater o comunismo na Ásia. A expressão de Mawhinney mudou e ele acenou para o outro lado do restaurante. George olhou para trás por cima do ombro e teve um choque. A pessoa para quem Mawhinney estava acenando era Maria Summers. Ela não o viu. Já estava se virando de volta para sua companhia, uma moça branca mais ou menos da mesma idade. – Aquela é Maria Summers? – indagou George, sem acreditar. – É. – Você a conhece? – Claro. Estudamos Direito juntos em Chicago. – O que ela está fazendo aqui em Washington? – É uma história engraçada. Originalmente ela foi recusada para um cargo na assessoria de imprensa da Casa Branca. Só que a pessoa que eles escolheram não deu certo e ela era a segunda opção. George ficou animado. Maria estava em Washington, e para ficar! Decidiu falar com ela antes de sair do restaurante. Ocorreu-lhe que Mawhinney talvez pudesse lhe contar mais coisas. – Você saiu com ela na faculdade? – Não, ela só saía com caras negros, e não muitos. Tinha fama de ser um iceberg. George não levou o comentário muito a sério. Para alguns homens, qualquer moça que dissesse não era um iceberg. – Ela saía com alguém fixo? – Namorou um cara por mais ou menos um ano, mas ele a largou porque ela não quis transar. – Não me espanta – comentou George. – A família dela é bem rígida. – Como você sabe? – Fizemos a primeira Viagem da Liberdade juntos. Conversei um pouco com ela. – Ela é bonita.
– É, sim. A conta chegou e eles a dividiram. No caminho da saída, George parou na mesa de Maria. – Bem-vinda a Washington – falou. Ela abriu um sorriso caloroso. – Oi, George. Estava me perguntando quando iria esbarrar com você. – Oi, Maria – disse Larry. – Eu estava contando para George como você era chamada de iceberg lá na faculdade, em Chicago. – Ele riu. Era uma provocação tipicamente masculina, nada fora do comum, mas mesmo assim Maria corou. Larry saiu do restaurante, mas George se demorou um pouco mais. – Sinto muito por ele ter dito isso. E estou constrangido por ter escutado. Foi bem grosseiro. – Obrigada. – Maria indicou a outra moça. – Esta é Antonia Capel. Ela também é advogada. Antonia era uma mulher magra e enérgica, com os cabelos puxados para trás em um penteado severo. – Prazer – disse George. – George quebrou o braço no Alabama, me protegendo de um segregacionista que quis me atacar com um pé de cabra – explicou Maria. Antonia assumiu uma expressão impressionada. – Você é um cavalheiro de verdade – comentou. George viu que as moças estavam prontas para ir embora: a conta sobre um pires em cima da mesa estava coberta por algumas cédulas de dinheiro. – Posso acompanhar você de volta até a Casa Branca? – perguntou a Maria. – Claro – respondeu ela. – Tenho de passar correndo na farmácia – disse Antonia. Os três saíram para o agradável ar de outono da capital. Antonia se despediu com um aceno e George e Maria tomaram o rumo da Casa Branca. Enquanto atravessavam a Pennsylvania Avenue, ele a examinou de soslaio. Ela usava uma capa de chuva estilosa por cima de um suéter branco de gola rulê, o traje de uma moça séria que trabalhava com política, mas não conseguia esconder o sorriso caloroso. Era bonita, tinha o nariz e o queixo pequenos, grandes olhos castanhos e lábios carnudos sensuais. – Eu estava discordando de Mawhinney sobre o Vietnã – comentou George. – Acho que ele tinha esperanças de me convencer para atingir Bobby indiretamente. – Tenho certeza que sim – respondeu Maria. – Mas o presidente não vai dar o braço a torcer para o Pentágono em relação a esse assunto. – Como você sabe? – Kennedy vai fazer um pronunciamento hoje à noite dizendo que há limites para o que podemos conquistar em matéria de política externa. Não podemos reparar todos os males nem
reverter todas as adversidades. Acabei de escrever o release desse pronunciamento para a imprensa. – Que bom que ele vai se manter firme. – George, você não ouviu o que eu disse: eu escrevi um release para a imprensa! Não entende o quanto isso é raro? Em geral quem escreve releases são homens, as mulheres só datilografam. George sorriu. – Parabéns. Sentia-se feliz por estar com ela, e os dois haviam retomado a relação de amizade. – Na verdade vou saber o que eles acharam quando voltar para o escritório. E lá na Justiça, quais as novidades? – Parece que nossas Viagens da Liberdade deram mesmo algum resultado – respondeu George, animado. – Em breve todos os ônibus interestaduais vão ter uma placa dizendo: “A ocupação deste veículo não terá discriminação de raça, cor, credo ou origem nacional.” As mesmas palavras serão impressas nas passagens. – Estava orgulhoso da sua conquista. – Que tal? – Muito bom. – Mas então Maria fez a pergunta mais importante: – E a lei vai ser aplicada? – Depende de nós, na Justiça, e estamos tentando com mais afinco do que nunca. Já nos opusemos várias vezes às autoridades do Mississippi e do Alabama. E um número surpreendente de cidades em outros estados está simplesmente acatando a lei. – É difícil acreditar que estejamos mesmo vencendo. Os segregacionistas sempre parecem ter mais um truque sujo escondido na manga. – Nossa próxima campanha é no alistamento eleitoral. Martin Luther King quer dobrar o número de eleitores negros no Sul até o final do ano. – O que precisamos mesmo é de uma nova lei de direitos civis que torne difícil para os estados sulistas desobedecer à constituição. – Estamos preparando isso. – Está me dizendo então que Bobby Kennedy apoia os direitos civis? – Caramba, não! Um ano atrás, essa questão nem sequer estava na agenda dele. Mas Bobby e o presidente detestaram aquelas fotos da violência dos brancos sulistas. Elas projetaram uma imagem ruim dos Kennedy nas manchetes de jornal do mundo todo. – E a política externa é a sua maior preocupação. – Exato. George quis chamá-la para sair, mas se conteve. Iria terminar com Norine Latimer quanto antes; agora que Maria estava em Washington, era inevitável. Mas sentia que devia dizer a Norine que seu relacionamento havia chegado ao fim antes de chamar Maria para sair. Qualquer outra coisa iria parecer desonesta. E não demoraria muito: ele veria Norine em poucos dias.
Os dois entraram na Ala Oeste. Rostos negros na Casa Branca eram raros o suficiente para as pessoas os encararem. Foram até o escritório da assessoria de imprensa. George se espantou ao ver que este não passava de uma salinha abarrotada de mesas. Meia dúzia de pessoas trabalhava concentrada em máquinas de escrever cinza da Remington e telefones com várias fileiras de luzinhas piscantes. De uma sala contígua vinha o murmúrio dos teletipos pontuado pelas sinetas que alertavam para mensagens particularmente importantes. Havia também uma sala interna, que George supôs que pertencesse ao assessor de imprensa Pierre Salinger. Todos pareciam muito concentrados, e ninguém conversava nem olhava pela janela. Maria lhe mostrou sua mesa e apresentou-lhe a mulher que datilografava na máquina ao lado, uma bela ruiva de 30 e poucos anos. – George, essa é minha amiga Nelly Fordham. Nelly, por que está todo mundo tão calado? Antes de Nelly conseguir responder, Salinger saiu de sua sala, um homem baixinho e gorducho vestido com um terno de alfaiataria em estilo europeu. Junto com ele estava Jack Kennedy. O presidente sorriu para todo mundo, meneou a cabeça para George e disse a Maria: – Você deve ser Maria Summers. Seu release ficou bom, claro e vigoroso. Parabéns. Maria corou de prazer. – Obrigada, presidente. Kennedy não parecia estar com pressa. – O que você fazia antes de vir para cá? – Fez a pergunta como se não houvesse nada mais interessante no mundo. – Estudava Direito em Chicago. – E está gostando da assessoria? – Ah, estou sim, é muito interessante. – Bem, obrigado pelo seu bom trabalho. Continue assim. – Vou me esforçar ao máximo. O presidente saiu, e Salinger foi atrás. George olhou para Maria com um ar de quem acha graça. Ela parecia atordoada. Depois de alguns segundos, Nelly Fordham falou: – É assim mesmo. Durante um minuto, você foi a mulher mais linda do mundo. Maria olhou para a colega. – É. Foi exatamente assim que eu me senti.
Tirando uma certa solidão, Maria era feliz. Adorava trabalhar na Casa Branca, cercada por pessoas inteligentes e sinceras que só queriam tornar o mundo um lugar melhor. Sentia que poderia conquistar muitas coisas
trabalhando no governo. Sabia que teria de lidar com o preconceito – tanto contra as mulheres quanto contra os negros –, mas acreditava que, com inteligência e determinação, poderia chegar lá. Sua família tinha tradição em superar os obstáculos. Seu avô, Saul Summers, fora a pé de Golgotha, sua cidade natal no Alabama, até Chicago. No caminho, fora preso por “indigência” e condenado a trinta dias de trabalho forçado em uma mina de carvão. Enquanto estava preso, vira um homem ser espancado até a morte pelos guardas por tentar fugir. Um mês depois, não foi solto e, ao reclamar, foi açoitado. Arriscando a própria vida, fugiu e finalmente conseguiu chegar a Chicago. Lá acabou se tornando pastor da Igreja Pentecostal de Belém. Agora, aos 80 anos, estava semiaposentado, mas ainda pregava de vez em quando. Daniel, pai de Maria, havia cursado o ensino superior básico e estudado Direito em uma universidade para negros. Em 1930, durante a Depressão, abrira um escritório de advocacia independente no bairro de South Side, onde ninguém tinha dinheiro sequer para comprar um selo de correio, quanto mais para pagar um advogado. Maria já o escutara relembrar muitas vezes como os clientes o remuneravam: bolos caseiros, ovos de galinhas criadas no quintal, um corte de cabelo gratuito, algum serviço de carpintaria no escritório. Quando o New Deal de Roosevelt finalmente começou a surtir efeito e a economia melhorou, ele já era o advogado negro mais badalado de Washington. Com uma história assim, Maria não tinha medo da adversidade. No entanto, sentia-se só. Todo mundo à sua volta era branco. Seu avô Summers costumava dizer: “Não há nada de errado com os brancos. Eles só não são negros.” Ela entendia o que o avô queria dizer. Os brancos não sabiam o que era “indigência”. De alguma forma, tinham esquecido o fato de que o Alabama continuara a mandar negros para campos de trabalhos forçados até 1927. Quando ela falava sobre essas coisas, as pessoas faziam cara de tristeza por alguns instantes e depois olhavam para o outro lado, e ela sabia que pensavam que ela estava exagerando. Os brancos ficavam entediados com negros que falavam sobre preconceito, como com doentes que recitam os próprios sintomas. Ficara encantada por tornar a encontrar George Jakes. Teria procurado por ele logo depois de chegar a Washington, mas uma moça recatada não corria atrás de homem, por mais charmoso que ele fosse; de todo modo, não teria sabido o que dizer. Gostava de George mais do que de qualquer outro rapaz que conhecera desde o término de seu namoro com Frank Baker, dois anos antes. Teria se casado com Frank se ele houvesse pedido, mas ele queria transar sem estar casado, e isso ela não aceitara. Quando George a acompanhou até a assessoria de imprensa, Maria teve certeza de que ele estava prestes a chamá-la para sair e ficou decepcionada quando isso não aconteceu. Maria dividia apartamento com duas outras moças negras, mas não tinha grande afinidade com elas. Ambas eram secretárias, interessadas sobretudo em moda e cinema. Ela estava acostumada a ser diferente. Não havia muitas negras durante seu ciclo básico na universidade, e no curso de Direito ela era a única. Agora, tirando faxineiras e cozinheiras,
era a única negra na Casa Branca. Não tinha do que reclamar, pois todos a tratavam bem, mas sentia-se só. Na manhã depois de esbarrar com George, estava estudando um discurso de Fidel Castro em busca de informações que a assessoria pudesse usar quando seu telefone tocou e uma voz de homem perguntou: – A senhorita gostaria de dar um mergulho? O sotaque de Boston era conhecido, mas por alguns instantes ela não conseguiu identificálo. – Quem está falando? – Dave. Era Dave Powers, o assessor pessoal do presidente, às vezes chamado de primeiro-amigo. Maria já havia falado com ele duas ou três vezes. Como a maioria das pessoas na Casa Branca, era amável e encantador. Mas nesse dia ela foi pega de surpresa. – Onde? – indagou. Ele riu. – Aqui na Casa Branca, claro. Ela lembrou que havia uma piscina na galeria oeste, entre a Casa Branca e a Ala Oeste. Nunca fora lá, mas sabia que tinha sido construída para o presidente Roosevelt. Ouvira dizer que Kennedy gostava de nadar pelo menos uma vez por dia, pois tinha problema nas costas e a água aliviava a pressão. – Vai ter outras garotas lá – acrescentou Dave. A primeira coisa em que Maria pensou foi nos cabelos. Praticamente todas as negras que trabalhavam fora usavam apliques ou perucas para o trabalho. Tanto negros quanto brancos concordavam que o aspecto natural dos cabelos dos negros simplesmente não era profissional. Nesse dia, Maria estava usando um penteado tipo colmeia, com um aplique cuidadosamente trançado nos próprios cabelos relaxados à base de produtos químicos para imitar a textura macia e lisa dos cabelos das brancas. Não era nenhum segredo: qualquer negra que a olhasse veria que ela estava de aplique. Mas um homem branco feito Dave jamais repararia numa coisa dessas. Como ela poderia ir à piscina? Se molhasse os cabelos, eles ficariam tão estragados que ela não conseguiria recuperá-los. Ficou encabulada demais para dizer qual era o problema, mas rapidamente pensou em uma desculpa: – Estou sem maiô. – Nós temos maiôs lá – retrucou Dave. – Passo para pegá-la ao meio-dia. Ele desligou. Maria olhou para o relógio. Eram dez para o meio-dia. O que ela iria fazer? Será que conseguiria entrar na água com cuidado, na parte rasa, e não
molhar os cabelos? Percebeu que tinha feito as perguntas erradas. O que realmente precisava saber era por que fora convidada e o que se esperava dela – e se o presidente estaria lá. Olhou para a colega da mesa ao lado. Nelly Fordham era solteira e trabalhava na Casa Branca havia dez anos. Já dera a entender que, anos antes, tivera uma decepção amorosa. Desde o início se mostrara solícita com Maria. Agora exibia um ar curioso. – Estou sem maiô? – repetiu. – Fui convidada para ir à piscina do presidente – explicou Maria. – Será que devo aceitar? – Claro! Contanto que me conte tudo o que aconteceu quando voltar. Maria baixou a voz: – Ele disse que vai ter outras garotas. Acha que o presidente vai estar lá? Nelly olhou em volta, mas ninguém estava ouvindo. – Jack Kennedy gosta de nadar rodeado por garotas bonitas? – perguntou. – Quem responder certo nem merece um prêmio. Maria ainda não tinha certeza se deveria ir. Então se lembrou de como Larry Mawhinney a tinha chamado de iceberg. O comentário a deixara magoada. Ela não era um iceberg. Continuava virgem aos 25 anos porque ainda não conhecera um homem a quem quisesse se entregar de corpo e alma, mas não era frígida. Dave Powers apareceu na porta e perguntou: – Vamos? – Ah, que se dane. Vamos – respondeu ela. Dave a conduziu pelos arcos em um dos lados do Roseiral até a entrada da piscina. Duas outras garotas chegaram ao mesmo tempo. Maria já as vira antes, sempre juntas: ambas eram secretárias da Casa Branca. Dave as apresentou: – Essas são Jennifer e Geraldine. Todo mundo as conhece como Jenny e Jerry. As moças levaram Maria até um vestiário onde havia uns dez ou mais trajes de banho pendurados em ganchos. Jenny e Jerry logo se despiram. Maria reparou que ambas tinham corpos esculturais. Não era sempre que via brancas peladas. Embora fossem louras, as duas tinham pelos pubianos pretos que formavam um triângulo perfeito. Maria imaginou se os teriam aparado com tesoura. Nunca havia pensado em fazer isso. Os trajes de banho eram todos maiôs inteiros de algodão. Maria rejeitou as cores mais vistosas e escolheu um modesto azul-marinho. Então seguiu Jenny e Jerry até a piscina. Em três dos lados, as paredes eram pintadas com cenas caribenhas, palmeiras e barcos a vela. A quarta parede era espelhada, e Maria espiou o próprio reflexo. Até que não era muito gorda, pensou, tirando a bunda grande demais. O azul-marinho ficava bem sobre sua pele marrom-escura. Reparou em uma mesa de bebidas e sanduíches em um dos lados da piscina, mas estava nervosa demais para comer. Sentado à beira da piscina, descalço e com as calças arregaçadas, Dave tinha os pés
mergulhados na água. Jenny e Jerry ficaram boiando na piscina, conversando e rindo. Maria sentou-se em frente a Dave e molhou os pés. A piscina estava morna feito um banho de banheira. Um minuto depois, o presidente apareceu, e o coração de Maria disparou. Jack Kennedy estava usando o habitual terno escuro com camisa branca e gravata fininha. Ficou parado na beira da piscina e sorriu para as moças. Maria sentiu um sopro da colônia cítrica 4711 que ele usava. – Vocês se importam se eu entrar também? – perguntou ele, como se a piscina fosse delas, e não sua. – Por favor, entre! – respondeu Jenny. Nem ela nem Jerry estavam surpresas com a sua presença, e Maria deduziu que aquela não era a primeira vez que nadavam com o presidente. Kennedy entrou no vestiário e saiu usando um calção de banho azul. Esguio e bronzeado, tinha ótima forma física para um homem de 44 anos, decerto por velejar tanto em Hyannis Port, Cape Cod, onde tinha casa de veraneio. Sentou-se na borda e entrou na água devagar, com um suspiro. Passou alguns minutos nadando. Maria se perguntou o que sua mãe diria. Sem dúvida não acharia adequado sua filha nadar com qualquer outro homem casado que não fosse o presidente. Mas nada de ruim poderia acontecer ali, em plena Casa Branca, na frente de Dave Powers, Jenny e Jerry. Ou poderia? O presidente nadou até onde ela estava sentada. – Como andam as coisas lá na assessoria, Maria? – indagou, como se fosse a pergunta mais importante do mundo. – Bem, obrigada, presidente. – Pierre é um bom chefe? – Muito bom. Todo mundo gosta dele. – Eu também gosto dele. Assim tão de perto, Maria podia ver as rugas nos cantos de seus olhos e da boca, e os fios grisalhos nos fartos cabelos castanhos arruivados. Os olhos não chegavam a ser azuis, constatou ela: estavam mais para avelã. Pensou que o presidente sabia que estava sendo estudado e não se importava. Talvez estivesse acostumado com aquilo. Talvez gostasse. Ele sorriu e perguntou: – E que tipo de trabalho você está fazendo? – Um misto de coisas. – Maria sentia-se muito lisonjeada. Talvez ele estivesse apenas sendo educado, mas parecia genuinamente interessado nela. – O que mais faço é pesquisar coisas para Pierre. Hoje de manhã passei o pente fino em um discurso de Fidel. – Antes você do que eu. Os discursos dele são intermináveis! Maria riu. No fundo de sua mente, uma vozinha falou: O presidente está fazendo piada comigo sobre Fidel Castro! À beira de uma piscina!
– Às vezes Pierre me pede para escrever algum release, é o que mais gosto de fazer. – Diga a ele para lhe pedir mais releases. Você escreve bem. – Obrigada, presidente. O senhor não sabe como é importante para mim ouvir isso. – Você é de Chicago, não é? – Sou, sim. – E onde está morando agora? – Georgetown. Divido apartamento com duas outras moças que trabalham no Departamento de Estado. – Que ótimo. Bem, fico contente por você estar instalada. Valorizo seu trabalho e sei que Pierre também pensa assim. Kennedy se virou e começou a conversar com Jenny, mas Maria não ouviu o que ele disse; estava empolgada demais. O presidente se lembrava do seu nome; sabia que ela era de Chicago, e tinha seu trabalho em alta conta. E ele era tão bonito... Maria se sentia tão leve que tinha a impressão de que poderia flutuar até a Lua. Dave olhou para o relógio e disse: – Meio-dia e meia, presidente. Ela não conseguiu acreditar que já fazia meia hora que estava ali. Pareciam dois minutos. Mas o presidente saiu da piscina e foi para o vestiário. As três moças também saíram. – Aceitem um sanduíche – ofereceu Dave. Elas se aproximaram da mesa. Como aquele era seu intervalo de almoço, Maria tentou comer alguma coisa, mas sua barriga parecia ter murchado até as costas. Tomou uma garrafa de refrigerante bem doce. Dave se retirou, e as três moças tornaram a vestir suas roupas de trabalho. Maria se olhou no espelho. Seus cabelos estavam um pouco molhados por causa da umidade, mas o penteado continuava perfeito, no lugar certo. Depois de se despedir de Jenny e Jerry, ela voltou para a sala da assessoria. Sobre sua mesa havia um grosso relatório sobre o serviço público de saúde e um bilhete de Salinger pedindo um resumo de duas páginas para dali a uma hora. Ela cruzou olhares com Nelly, e a colega perguntou: – Então? Que história foi essa? Depois de refletir por alguns segundos, Maria respondeu: – Não faço a menor ideia.
George Jakes recebeu um recado pedindo-lhe que fosse ver Joseph Hugo na sede do FBI. Hugo agora era assistente pessoal de J. Edgar Hoover, diretor da agência de investigação. O recado dizia que eles tinham informações importantes sobre Martin Luther King, que Hugo
desejava compartilhar com funcionários do secretário de Justiça. Hoover odiava Martin Luther King. Não havia um só agente negro no FBI. Hoover também odiava Bobby Kennedy. Ele odiava uma porção de gente. George cogitou não ir. A última coisa que desejava era falar com Hugo, aquele maucaráter que traíra o movimento pelos direitos civis e a ele pessoalmente. Seu braço ainda doía de vez em quando por causa da agressão sofrida em Anniston enquanto Hugo assistia, fumando e conversando com policiais. Por outro lado, se fosse alguma notícia ruim, George queria ser o primeiro a saber. Talvez o FBI tivesse descoberto que King traía a mulher ou algo assim. Seria muito bom ter a chance de administrar a divulgação de qualquer informação negativa relacionada ao movimento em defesa dos direitos civis. Ele não queria alguém como Dennis Wilson espalhando a notícia. Por esse motivo, seria obrigado a ir falar com Hugo, e provavelmente a suportar o seu tripúdio. A sede do FBI ficava em outro andar do prédio do Departamento de Justiça. George encontrou Hugo em uma salinha próxima ao complexo de salas do diretor. O rapaz tinha os cabelos curtos, ao estilo da agência, e usava um terno cinza simples com camisa de náilon branca e gravata azul-marinho. Sobre sua mesa havia um maço de cigarros mentolados e uma pasta de documentos. – O que você quer? – perguntou George. Hugo deu um sorriso forçado. Não conseguia esconder a própria satisfação. – Um dos conselheiros de Martin Luther King é comunista – falou. George ficou chocado. Aquela acusação poderia prejudicar todo o movimento em defesa dos direitos civis. Sentiu um calafrio de apreensão. Era impossível provar que alguém não era comunista, e de toda forma a verdade não tinha a menor importância: a simples sugestão já era mortal. Como uma acusação de bruxaria na Idade Média, era um jeito fácil de fomentar o ódio entre pessoas estúpidas e ignorantes. – Qual deles? – perguntou a Hugo. O outro rapaz verificou um documento como se precisasse refrescar a memória. – Stanley Levison – respondeu. – Não parece nome de um negro. – Ele é judeu. Hugo pegou uma foto dentro da pasta e lhe entregou. George viu um rosto branco sem nenhuma característica especial, com os cabelos recuados na testa e óculos grandes. O homem usava uma gravata-borboleta. George já havia encontrado King e seu pessoal em Atlanta, e ninguém se parecia com aquele sujeito. – Tem certeza de que ele trabalha na Conferência da Liderança Cristã do Sul? – Eu não disse que ele trabalhava para King. Ele é advogado em Nova York. É também um bem-sucedido homem de negócios. – Então em que sentido ele é “conselheiro” do Dr. King?
– Ele ajudou o reverendo a publicar seu livro e o defendeu em um processo por evasão fiscal no Alabama. Eles não se encontram com frequência, mas se falam ao telefone. George se empertigou. – Como é que você sabe dessas coisas? – Fontes – respondeu Hugo, convencido. – Está dizendo então que o Dr. King de vez em quando telefona para um advogado de Nova York para receber conselhos sobre impostos e questões editoriais. – De um comunista. – Como sabe que ele é comunista? – Fontes. – Que fontes? – Não podemos revelar a identidade dos informantes. – Para o secretário de Justiça, podem, sim. – Você não é o secretário de Justiça. – Você tem o número da carteirinha de Levison? – O quê? – Hugo ficou momentaneamente desconcertado. – Os membros do Partido Comunista têm uma carteira, como você bem sabe. Cada carteira tem um número. Qual é o número da de Levison? Hugo fingiu procurar dentro da pasta. – Acho que não está aqui. – Então vocês não podem provar que ele é comunista. – Nós não precisamos provar – retrucou Hugo, demonstrando irritação. – Não vamos processá-lo. Estamos apenas informando o secretário de Justiça sobre nossas suspeitas, como é nosso dever. George ergueu a voz: – Vocês estão comprometendo o nome do Dr. King com a alegação de que um advogado que ele consultou é comunista e não apresentam prova nenhuma? – Tem razão – disse Hugo, surpreendendo George. – Precisamos de mais provas. É por isso que vamos solicitar um grampo no telefone de Levison. – Os grampos precisavam de autorização do secretário de Justiça. – A pasta é para vocês. – Ele a estendeu. Mas George não a pegou. – Se vocês grampearem Levison, vão interceptar algumas das ligações do Dr. King. – Quem fala com comunistas corre o risco de ser grampeado – disse Hugo, dando de ombros. – Algum problema com isso? Para George, fazer uma coisa dessas em um país livre era um problema, sim, mas ele não disse nada. – Não sabemos se Levison é comunista. – Então precisamos descobrir. George pegou a pasta, levantou-se e abriu a porta.
– Hoover com certeza vai mencionar a questão na próxima vez em que estiver com Bobby – falou Hugo. – Então não tente segurar a informação. George havia pensado em fazer isso, mas o que disse foi: – É claro que não. De toda forma, não era uma boa ideia. – Então o que você vai fazer? – Falar com Bobby. Caberá a ele decidir. Dito isso, George saiu da sala. Subiu de elevador até o quinto andar. Vários altos funcionários do Departamento de Justiça estavam saindo da sala de Bobby. George espiou lá dentro. O secretário estava sem paletó, com as mangas da camisa arregaçadas e de óculos. Estava claro que acabara de encerrar uma reunião. George verificou o relógio: tinha alguns minutos antes do próximo compromisso de Bobby. Entrou na sala. – Oi, George, como andam as coisas? – perguntou Bobby, caloroso. Fora assim desde o dia em que George pensara que Bobby Kennedy fosse lhe bater: o secretário agora o tratava como um grande amigo. Pensou se isso seria um padrão de comportamento; talvez Bobby precisasse brigar com alguém antes de se tornar íntimo. – Más notícias – anunciou George. – Sente-se e me conte. George fechou a porta. – Hoover está dizendo que encontrou um comunista no círculo de Martin Luther King. – Hoover é um veadinho criador de caso – retrucou Bobby. George se espantou. Será que Bobby estava querendo dizer que Hoover era homossexual? Parecia impossível. Talvez fosse apenas um xingamento. – O nome do cara é Stanley Levison – informou. – E de quem se trata? – Um advogado que o Dr. King consultou sobre impostos e outros assuntos. – Em Atlanta? – Não. Levison trabalha em Nova York. – Não está parecendo muito próximo de King. – Não acho que seja. – Mas isso não importa muito – disse Bobby, desanimado. – Hoover sempre pode fazer as coisas parecerem piores do que são. – Segundo o FBI, Levison é comunista, mas eles não quiseram me dizer que provas têm. Talvez digam ao senhor. – Eu não quero saber nada sobre as fontes deles. – Bobby ergueu as duas mãos com as palmas para a frente, em um gesto defensivo. – Se houvesse qualquer vazamento, eles me culpariam para sempre. – Eles não têm nem o número da carteirinha do partido de Levison.
– Eles não sabem porra nenhuma, estão só jogando verde – falou Bobby. – Mas não faz diferença. As pessoas vão acreditar. – O que nós vamos fazer? – King tem de romper com Levison – respondeu Bobby em tom decidido. – Caso contrário, Hoover vai vazar essa informação, a reputação de King vai ser prejudicada e toda essa lambança dos direitos civis só vai piorar. George não pensava na campanha em defesa dos direitos civis como uma “lambança”, mas os irmãos Kennedy, sim. A questão, porém, era outra. A acusação de Hoover constituía uma ameaça que precisava ser administrada, e Bobby tinha razão: a solução mais simples seria King romper com Levison. – Mas como vamos conseguir que o Dr. King faça isso? – indagou George. – Você vai pegar um avião até Atlanta e dirá isso a ele – respondeu Bobby. George ficou intimidado. Martin Luther King era famoso por desafiar as autoridades, e George sabia, por Verena, que tanto na esfera pessoal quanto na pública não era fácil convencê-lo de nada. No entanto, escondeu sua apreensão por trás de um semblante calmo. – Vou ligar agora mesmo e marcar uma hora. – Ele andou até a porta. – Obrigado, George – disse Bobby com alívio evidente. – É ótimo mesmo poder contar com você.
Um dia depois de ir à piscina com o presidente, Maria atendeu o telefone e tornou a escutar a voz de Dave Powers. – Vai ter uma confraternização de funcionários às cinco e meia – disse ele. – Gostaria de participar? Maria e as colegas de apartamento tinham combinado ir ver Audrey Hepburn e o galã George Peppard em Bonequinha de luxo, mas funcionários subalternos da Casa Branca não diziam não a Dave Powers. As meninas teriam de babar por Peppard sem sua companhia. – Onde vai ser? – indagou ela. – Lá em cima. – Lá em cima? – Em geral isso queria dizer a residência pessoal do presidente. – Passo aí para buscá-la. – Dave desligou. Na mesma hora, Maria desejou ter escolhido uma roupa mais elegante para ir trabalhar. Estava usando uma saia xadrez plissada e uma blusa branca simples com pequenos botões dourados. Seu penteado hoje era curto e sem requinte, batido na nuca e com duas mechas tipo pega-rapaz de um lado e outro do rosto, como estava na moda. Receava estar igualzinha a qualquer outra moça da capital que trabalhasse em um escritório. – Você foi convidada para uma confraternização de funcionários hoje no final do dia? – perguntou a Nelly.
– Eu, não. Onde vai ser? – Lá em cima. – Que sorte a sua. Às cinco e quinze, Maria foi ao banheiro feminino ajeitar os cabelos e a maquiagem. Reparou que nenhuma das outras mulheres estava fazendo qualquer esforço especial, e deduziu que elas não tinham sido convidadas. Talvez a confraternização fosse para os recémcontratados. Às cinco e meia, Nelly pegou a bolsa para ir embora. – Cuide-se, então – falou para Maria. – Você também. – Não, estou falando sério – insistiu a secretária, e saiu antes de Maria poder perguntar o que ela queria dizer com isso. Um minuto depois, Dave Powers apareceu. Conduziu-a porta afora pela Galeria Oeste, passou pela porta da piscina, tornou a entrar no prédio e subiu por um elevador. As portas se abriram para um corredor imponente com dois lustres no teto. As paredes tinham uma cor entre o azul e o verde que talvez, pensou Maria, fosse o tom conhecido como eau de nil. Mal teve tempo para absorver o ambiente que a cercava. – Aqui é a Sala de Espera Oeste – explicou Dave, fazendo-a passar por uma porta aberta até uma sala informal mobiliada com vários sofás confortáveis e com uma ampla janela em arco virada para o pôr do sol. As mesmas duas secretárias, Jenny e Jerry, estavam presentes, mas não havia mais ninguém. Maria sentou-se e perguntou-se quando os outros iriam chegar. Sobre a mesa de centro, viu uma bandeja com copos de drinques e uma jarra. – Aceite um daiquiri – disse Dave, e serviu a bebida sem esperar resposta. Maria não tinha o hábito de ingerir álcool, mas sorveu um golinho e gostou. Pegou um folheado de queijo na bandeja de canapés. O que estaria acontecendo ali? – A primeira-dama vai vir nos encontrar? – indagou. – Adoraria conhecê-la. Houve alguns segundos de silêncio que lhe deram a impressão de ter dito algo inconveniente, então Dave falou: – Jackie está em Glen Ora. Glen Ora era uma fazenda em Middleburg, na Virgínia, onde Jackie Kennedy criava cavalos e fazia parte do clube de caça Orange County Hunt. Ficava a cerca de uma hora da capital. – Ela levou Caroline e John John – disse Jenny. Caroline Kennedy tinha 4 anos, e John John, 1. Se eu fosse casada com ele, pensou Maria, não o deixaria sozinho para ir montar. De repente, o presidente entrou; todos se levantaram. Ele estava com um ar cansado e tenso, mas exibia o mesmo sorriso caloroso de sempre. Tirou o paletó, jogou-o sobre o encosto de uma cadeira, sentou-se no sofá, reclinou-se e pôs
os pés em cima da mesa de centro. Maria teve a sensação de ter sido aceita no grupo social mais exclusivo do mundo. Estava na casa do presidente, tomando drinques e comendo canapés enquanto ele punha os pés para cima. O que quer que o futuro lhe reservasse, guardaria para sempre aquela lembrança. Esvaziou seu copo e Dave tornou a enchê-lo. Por que ela estava pensando o que quer que o futuro lhe reservasse? Havia alguma coisa estranha naquela situação. Ela não passava de uma pesquisadora que esperava conseguir em breve uma promoção a assessora de imprensa assistente. Apesar da atmosfera descontraída, na verdade não estava entre amigos. Nenhuma daquelas pessoas sabia nada sobre ela. O que estava fazendo ali? Kennedy se levantou e perguntou: – Maria, quer dar uma volta para conhecer a residência? Uma volta para conhecer a residência? Com o próprio presidente? Quem poderia recusar? – Claro. Ela se levantou. O daiquiri lhe subiu à cabeça e ela ficou tonta por alguns segundos, mas depois passou. O presidente entrou por uma porta lateral e ela foi atrás. – Aqui antigamente era um quarto de hóspedes, mas a Sra. Kennedy o transformou em sala de jantar – explicou. O cômodo era forrado com um papel de parede que mostrava cenas de batalha da Revolução Americana. A mesa quadrada no centro dava a impressão de ser pequena demais para o espaço, pensou Maria, e o lustre grande demais para a mesa. Mas o que ela mais pensou foi: estou sozinha com o presidente na residência da Casa Branca... eu, Maria Summers! Kennedy sorriu e a encarou. – O que achou? – quis saber, como se ele próprio não conseguisse decidir o que pensava sem antes ouvir sua opinião. – Adorei – respondeu ela, desejando conseguir pensar em um elogio mais inteligente. – Por aqui. – Tornou a atravessar com ela a Sala de Estar Oeste e entrou pela porta do lado oposto. – Este é o quarto da Sra. Kennedy – falou, fechando a porta atrás deles. – Que lindo – disse Maria, com um sussurro. Em frente à porta ficavam duas largas janelas emolduradas por cortinas azul-claras. À esquerda de Maria havia uma lareira, e diante desta um sofá sobre um tapete estampado no mesmo tom de azul. Acima do parapeito pendia uma coleção de desenhos enquadrados de visual elegante e refinado, como a própria Jackie. Do outro lado, a colcha e o baldaquino da cama também combinavam entre si, bem como o pano que recobria a mesinha de canto. Maria nunca tinha visto um quarto como aquele, nem mesmo nas revistas. Mas estava pensando: por que ele disse “o quarto da Sra. Kennedy”? Por acaso não dormia ali? A espaçosa cama de casal estava feita em duas metades distintas, e Maria recordou que o
presidente precisava de um colchão duro por causa dos problemas nas costas. Ele a levou até a janela, e ambos admiraram a vista. A luz do fim de tarde batia suavemente no Gramado Sul e no chafariz em que os filhos do casal Kennedy às vezes brincavam. – Muito lindo – repetiu Maria. O presidente pôs a mão no seu ombro. Era a primeira vez que a tocava, e a emoção foi tanta que ela estremeceu de leve. Sentiu o cheiro da água-de-colônia que ele usava, e agora estava próxima o bastante para distinguir o alecrim e o almíscar por baixo do aroma cítrico. Ele a encarou com seu leve sorriso tão atraente. – Este é um quarto muito íntimo – murmurou. Ela o fitou nos olhos. – Sim – sussurrou. Teve uma sensação de grande intimidade com ele, como se o conhecesse da vida inteira, como se soubesse, sem qualquer dúvida possível, que podia confiar nele e amá-lo sem limites. Sentiu um instante fugidio de culpa em relação a George Jakes, mas o rapaz nem sequer a convidara para sair. Afastou-o do pensamento. Kennedy pousou a outra mão sobre seu outro ombro e a empurrou delicadamente para trás. Quando sentiu as pernas tocarem a cama, ela se sentou. Ele a empurrou mais para trás até obrigá-la a se apoiar nos próprios cotovelos. Sem desgrudar os olhos dos seus, começou a abrir sua blusa. Por um segundo apenas, ela sentiu vergonha daqueles botões dourados vagabundos ali, naquele quarto de elegância indescritível. Então ele tocou seus seios. De repente, Maria sentiu ódio do sutiã de náilon que se interpunha entre a sua pele e a dele. Abriu rapidamente o resto dos botões, tirou a blusa, levou a mão às costas para abrir o sutiã e o despiu também. Ele fitou seus seios com adoração, em seguida os segurou com as mãos macias e os acariciou, primeiro com delicadeza, depois apertando bem firme. Pôs a mão por baixo de sua saia plissada e puxou a calcinha para baixo. Maria desejou ter se lembrado de aparar os pelos pubianos, como Jenny e Jerry faziam. Kennedy estava ofegante, e ela também. Ele abriu a braguilha da calça do terno e a deixou cair no chão, então se deitou por cima dela. Será que era sempre assim tão rápido? Ela não sabia. Ele começou a penetrá-la sem dificuldade. Então, ao sentir uma resistência, parou. – Você nunca fez isso antes? – indagou ele, surpreso. – Não. – Está tudo bem? – Tudo. Tudo mais do que bem, até. Ela estava feliz, excitada, cheia de desejo. Ele empurrou com mais delicadeza. Alguma coisa cedeu, e Maria sentiu uma pontada de dor. Não pôde reprimir um grito débil.
– Tudo bem? – repetiu ele. – Tudo. – Não queria que ele parasse. De olhos fechados, Kennedy continuou. Maria ficou olhando seu rosto, a expressão concentrada, o sorriso de prazer. Ele então deu um suspiro satisfeito, e tudo terminou. Ele se pôs de pé e levantou a calça. Com um sorriso, falou: – O banheiro é logo ali. Apontou para uma porta no canto e fechou a braguilha. De repente, Maria sentiu-se encabulada, deitada ali na cama com a nudez totalmente exposta. Levantou-se depressa. Recolheu a blusa e o sutiã, curvou-se para catar a calcinha e correu para o banheiro. Olhou-se no espelho e pensou: o que acabou de acontecer? Não sou mais virgem, concluiu. Fiz sexo com um homem maravilhoso. Ele por acaso é presidente dos Estados Unidos. Senti prazer. Vestiu as roupas e retocou a maquiagem. Felizmente, não tinha desarrumado os cabelos. Este é o banheiro de Jackie, lembrou, culpada, e de repente quis sair dali. Não havia mais ninguém no quarto. Ela foi até a porta, então se virou e tornou a olhar para a cama. Deu-se conta de que ele não a beijara uma vez sequer. Foi até a Sala de Estar Oeste. O presidente estava sentado ali, sozinho, com os pés sobre a mesa de centro. Dave e as moças tinham ido embora e deixado atrás de si uma bandeja de copos usados e as sobras dos canapés. Kennedy parecia relaxado, como se nada importante tivesse acontecido. Seria aquilo uma ocorrência diária para ele? – Quer comer alguma coisa? – ofereceu. – A cozinha fica aqui ao lado. – Não, presidente, obrigada. Ele acabou de me comer e eu ainda o estou chamando de presidente, pensou. Kennedy se levantou. – Tem um carro no Pórtico Sul esperando para levá-la em casa – disse ele. Acompanhou-a até o saguão principal. – Está tudo bem? – perguntou, pela terceira vez. – Tudo. O elevador chegou. Maria se perguntou se ele lhe daria um beijo de boa-noite. Mas ele não deu. Ela entrou no elevador. – Boa noite, Maria. – Boa noite – disse ela, e as portas se fecharam.
George ainda precisou esperar mais uma semana para dizer a Norine Latimer que queria terminar a relação.
Estava apreensivo com a conversa. Já tinha terminado com outras garotas, claro. Depois de uma ou duas saídas, era fácil: bastava não ligar mais. Depois de um relacionamento longo, pela sua experiência, o sentimento em geral era mútuo: ambos sabiam que a emoção tinha morrido. Mas com Norine não era nem uma coisa nem outra. Eles só saíam havia uns dois meses e se davam bem. George estava torcendo para transarem muito em breve. Ela não estaria esperando um fora. Convidou-a para almoçar. Ela pediu que ele a levasse a um restaurante no subsolo da Casa Branca conhecido como refeitório, mas o lugar não aceitava mulheres. George não queria levá-la a um lugar chique como o Jockey Club por medo de ela pensar que estava prestes a pedi-la em casamento. No fim das contas, acabaram indo ao Old Ebbitt, restaurante tradicional de políticos que já vira dias melhores. Norine tinha uma aparência mais árabe do que africana. Dona de uma beleza exuberante e exótica, tinha cabelos negros ondulados, pele morena e nariz adunco. Estava usando um suéter fofinho que na realidade não lhe caía bem. George calculou que estivesse tentando intimidar seu chefe: os homens não se sentiam à vontade com a presença de mulheres de aspecto autoritário em seus escritórios. – Sinto muito mesmo por ter cancelado ontem – disse ele depois de fazerem o pedido. – Fui convocado para uma reunião com o presidente. – Bem, com o presidente eu não posso competir – retrucou ela. George achou aquilo uma coisa meio boba de se dizer. É claro que ela não podia competir com o presidente; ninguém podia. Mas não queria começar esse debate. Foi direto ao assunto. – Aconteceu uma coisa – falou. – Antes de eu conhecer você, tinha outra garota. – Eu sei – disse Norine. – Como assim? – George, eu gosto de você. Você é inteligente, engraçado, gentil. E, tirando essa orelha, é bonito. – Mas... – Mas eu sei dizer quando um homem está a fim de outra pessoa. – Sabe? – Imagino que seja Maria. George ficou pasmo. – Como é que você pode saber isso? – Você disse o nome dela umas quatro ou cinco vezes. E nunca falou sobre nenhuma outra garota do seu passado. Então não é preciso ser nenhum gênio para entender que ela ainda é importante na sua vida. Só que, como ela está em Chicago, eu achei que talvez conseguisse tirar você dela. De repente, Norine exibiu uma expressão triste. – Ela veio para Washington – falou George. – Garota esperta.
– Não por minha causa. Por causa de um emprego. – Seja como for, você está me dando um pé na bunda para ficar com ela. Ele não podia dizer sim para isso, mas era verdade, portanto ficou calado. A comida chegou, mas Norine não pegou o garfo. – Desejo a você tudo de bom, George – disse ela. – Cuide-se bem. Aquilo parecia muito súbito. – Ahn... você também. Ela se levantou. – Tchau. Só havia uma coisa a dizer: – Tchau, Norine. – Pode ficar com a minha salada – concluiu ela, e saiu do restaurante. George ainda ficou empurrando a comida de um lado para outro do prato por alguns minutos, sentindo-se mal. Ao seu modo, Norine tinha sido boa com ele, tinha facilitado as coisas. Torceu para ela ficar bem. Ela não merecia ser magoada. Do restaurante, foi direto para a Casa Branca. Precisava participar do Comitê Presidencial de Oportunidades de Emprego Igualitárias, presidido pelo vice Lyndon Johnson; havia formado uma aliança com Skip Dickerson, um dos consultores de Johnson. Só que ainda faltava uma hora para a reunião, então foi até a assessoria à procura de Maria. Nesse dia, ela estava usando um vestido de bolinhas com uma faixa da mesma estampa nos cabelos. A faixa decerto estava segurando uma peruca: a maioria das garotas negras usava apliques complicados, e o belo penteado curto de Maria com certeza não era natural. Quando ela lhe perguntou como ele estava, George não soube o que responder. Sentia-se culpado por causa de Norine, mas agora podia chamar Maria para sair sem peso na consciência. – Bastante bem, considerando tudo – respondeu. – E você? Ela baixou a voz: – Às vezes eu simplesmente odeio os brancos. – O que houve? – Você não conheceu o meu avô. – Nunca conheci ninguém da sua família. – Vovô ainda faz sermões lá em Chicago de vez em quando, mas passa a maior parte do tempo na cidade em que nasceu, Golgotha, no Alabama. Diz que nunca se acostumou com o vento frio do Meio-Oeste. Mas ele ainda tem muita disposição. Vestiu seu melhor terno e foi ao tribunal de Golgotha tirar seu título de eleitor. – E o que aconteceu? – Eles o humilharam. – Ela balançou a cabeça. – Você sabe como é. Eles mandam as pessoas fazerem um teste de alfabetização: é preciso ler em voz alta um trecho da Constituição, explicá-lo, e depois escrevê-lo. Quem escolhe a cláusula a ser lida é o
funcionário do cartório. Para os brancos, dá frases simples como “Ninguém poderá ser preso por motivo de dívida.” Mas os negros sempre recebem parágrafos longos e complicados, que só um advogado seria capaz de entender. Depois disso cabe ao funcionário dizer se você é alfabetizado ou não, e é claro que ele sempre decide que os brancos são e os negros não. – Filhos da puta. – E não é só isso. Os negros que tentam tirar o título são demitidos de seus empregos como punição, só que, como vovô é aposentado, isso eles não puderam fazer. Então, quando ele estava saindo do tribunal, foi preso por vadiagem. Teve de passar a noite na cadeia... o que não é fácil para um senhor de 80 anos. Ela estava com os olhos marejados. Aquela história aumentou a determinação de George. Do que ele podia reclamar? E daí se algumas das suas atribuições lhe davam vontade de lavar as mãos? Trabalhar para Bobby ainda era a coisa mais eficaz que ele podia fazer por gente como o avô Summers. Um dia aqueles racistas do Sul seriam derrotados. Ele olhou para o relógio. – Tenho reunião com Lyndon. – Conte a ele sobre o meu avô. – Talvez conte, mesmo. O tempo que ele passava com Maria sempre lhe parecia curto demais. – Sinto muito ter de sair correndo, mas quer fazer alguma coisa depois do trabalho? Podemos tomar um drinque, ou quem sabe ir jantar em algum lugar. Ela sorriu. – Obrigado, George, mas hoje eu tenho compromisso. – Ah... – George ficou espantado. Por algum motivo, não havia lhe ocorrido que ela talvez já estivesse saindo com alguém. – Eu, ahn, amanhã preciso ir a Atlanta, mas volto daqui a dois ou três dias. Quem sabe no fim de semana? – Não, obrigada. – Ela hesitou antes de explicar: – Estou meio que namorando firme. George ficou arrasado, o que era uma estupidez: por que uma moça bonita como Maria não estaria namorando firme? Que bobo ele tinha sido. Sentiu-se desorientado, como se houvesse perdido o chão. – Cara de sorte – conseguiu articular. Ela sorriu. – É muito gentil da sua parte dizer isso. George queria saber quem era o concorrente. – Quem é o cara? – Você não conhece. Não, mas assim que puder vou descobrir o nome dele. – Pode ser que conheça. Mas ela fez que não com a cabeça.
– Prefiro não dizer. George ficou frustradíssimo. Tinha um adversário, mas nem sequer sabia o nome do sujeito. Quis insistir com ela, mas tomou cuidado para não forçar a barra: garotas odiavam isso. – Está bem – falou, relutante. E arrematou com toda a insinceridade de que foi capaz. – Divirta-se hoje à noite. – Pode deixar. Os dois se separaram, Maria na direção da assessoria de imprensa, George na da sala do vice-presidente. Estava arrasado. Gostava mais de Maria do que de qualquer outra garota que já tivesse conhecido, e a havia perdido para outro homem. Quem poderia ser?, perguntou-se.
Maria tirou a roupa e entrou na banheira com Jack Kennedy. O presidente passava o dia tomando remédios, mas nada aliviava mais sua dor nas costas do que estar dentro d’água. Ele chegava até a se barbear na banheira pela manhã. Se pudesse, dormiria dentro de uma piscina. Aquela era a sua banheira, no seu banheiro privativo, com o seu frasco dourado e azulturquesa de água-de-colônia 4711 na prateleira acima da pia. Depois daquela primeira vez, Maria nunca mais voltara aos aposentos de Jackie. O presidente tinha sua própria suíte, ligada à de Jackie por um corredor curto que, por algum motivo, era onde ficava o toca-discos. Jackie estava viajando de novo. Maria já tinha aprendido a não se torturar pensando na esposa de seu amante. Sabia que estava traindo uma mulher decente e isso a entristecia, de modo que não pensava no assunto. Adorava aquele banheiro. Era mais luxuoso do que ela poderia ter sonhado: toalhas macias, roupões brancos e sabonetes caros, além de uma família de patos de borracha amarelos. Eles agora tinham uma rotina. Sempre que Dave Powers a convidava, o que ocorria cerca de uma vez por semana, ela pegava o elevador até a residência presidencial depois do trabalho. Uma jarra de daiquiri e uma bandeja de canapés sempre a aguardavam na Sala de Espera Oeste. Às vezes Dave estava lá, outras vezes Jenny e Jerry, e em algumas ocasiões não havia ninguém. Maria se servia uma bebida e, ansiosa mas pacientemente, esperava o presidente chegar. Eles iam para o quarto logo em seguida. Aquele era o lugar preferido de Maria no mundo todo. Havia uma cama de baldaquino azul, duas cadeiras em frente a uma lareira de verdade, e pilhas de livros, revistas e jornais por toda parte. Tinha a sensação de que poderia passar o resto da vida morando dentro daquele quarto, sem problema algum.
Com toda a delicadeza, ele havia lhe ensinado a praticar sexo oral; ela se revelara uma aluna muito disposta. Em geral era isso que ele queria assim que chegava. Muitas vezes mostrava pressa, quase um desespero, e essa urgência era excitante. Porém Maria gostava mais dele depois, quando relaxava e se mostrava mais caloroso, carinhoso. Às vezes ele punha um disco para tocar. Gostava de Sinatra, Tony Bennett e Percy Marquand. Nunca tinha ouvido falar em The Miracles nem em The Shirelles. Havia sempre uma ceia fria na cozinha: frango, camarão, sanduíches, salada. Depois de comerem, eles tiravam a roupa e entravam na banheira. Nessa noite, Maria se sentou do lado oposto da banheira. Ele pôs dois patos na água e disse: – Aposto 25 cents que o meu pato é mais rápido do que o seu. – Com seu sotaque de Boston, pronunciava algumas palavras como se fosse inglês. Maria pegou um pato. Gostava mais dele assim: brincalhão, bobo, infantil. – Tudo bem, presidente. Mas vamos apostar um dólar, se tiver coragem. Ela ainda o chamava quase sempre de presidente. Sua mulher o chamava de Jack; os irmãos, às vezes, de Johnny. Maria só o chamava de Johnny nos momentos de intensa paixão. – Não posso me dar ao luxo de perder um dólar – disse ele, rindo. Mas era um homem sensível, e pôde ver que ela não estava muito animada. – O que houve? – Não sei. – Ela deu de ombros. – Em geral não falo com você sobre política. – Por que não? Eu vivo de política e você também. – Você passa o dia inteiro sendo importunado. O tempo que temos juntos é para relaxarmos e nos divertirmos. – Abra uma exceção. – Ele segurou o pé dela, encostado em sua coxa dentro d’água, e acariciou os dedos. Maria sabia que tinha pés lindos e sempre pintava as unhas. – Alguma coisa incomodou você. Me diga o que foi. Quando ele a encarava assim tão intensamente, com aqueles olhos cor de avelã e o sorriso de ironia, ela ficava sem ação. – Anteontem meu avô foi preso por tentar tirar o título de eleitor. – Preso? Eles não podem fazer isso. Qual foi a acusação? – Vadiagem. – Ah. Foi em algum lugar no Sul. – Golgotha, no Alabama. A cidade em que ele nasceu. – Ela hesitou, mas resolveu lhe contar a história toda, mesmo que ele não fosse gostar: – Quer saber o que ele disse quando saiu da prisão? – O quê? – “Com Kennedy na Casa Branca eu achei que pudesse votar, mas pelo visto estava errado.” Pelo menos foi o que minha avó me disse. – Que droga – disse Kennedy. – Ele acreditou em mim e eu o decepcionei. – É isso que ele pensa, eu acho.
– E você, Maria, o que pensa? – Ele continuava a afagar seus dedos. Ela tornou a vacilar; olhou para seu pé escuro nas mãos brancas dele. Temia que aquela conversa pudesse azedar. Ele era muito suscetível à menor sugestão de que fosse insincero ou indigno de confiança, ou de que não conseguisse manter suas promessas políticas. Se ela forçasse demais, poderia terminar seu relacionamento. E, se isso acontecesse, ela iria morrer. Mas precisava ser sincera. Respirou fundo e tentou manter a calma. – Até onde eu posso constatar, a questão não é complicada – começou. – Os sulistas fazem isso porque podem. Apesar da Constituição, a lei, da maneira que é hoje, os deixa escapar impunes. – Não totalmente – interrompeu Kennedy. – Meu irmão Bob aumentou o número de processos por violações do direito ao voto no Departamento de Justiça. Tem um advogado negro brilhante trabalhando com ele. Ela assentiu. – George Jakes. Eu o conheço. Mas o que eles estão fazendo não basta. O presidente deu de ombros. – Isso eu não posso negar. Ela insistiu: – Todo mundo concorda que temos de mudar a legislação criando uma nova Lei de Direitos Civis. Várias pessoas pensaram que você estivesse prometendo isso na sua campanha. E... e ninguém entende por que ainda não fez nada. – Ela mordeu o lábio, então arriscou o ultimato: – Nem eu. O semblante dele se tornou duro. Na mesma hora Maria se arrependeu de ter sido tão sincera. – Não se zangue – pediu. – Por nada deste mundo eu iria querer chateá-lo, mas você perguntou e quis ser sincera. – Seus olhos se encheram de lágrimas. – E o coitadinho do meu avô passou a noite inteira na prisão vestido com seu melhor terno. Ele forçou um sorriso. – Não estou zangado, Maria. Pelo menos não com você. – Pode me dizer o que quiser – falou ela. – Eu adoro você. Jamais iria julgá-lo, você deve saber disso. É só dizer o que sente e pronto. – Acho que estou zangado por ser fraco. Nós só temos a maioria no Congresso contando com os democratas conservadores do Sul. Se eu criar uma nova Lei de Direitos Civis, eles vão sabotá-la... e não só isso: para se vingar, vão votar contra o resto do meu programa legislativo nacional, incluindo o sistema público de saúde. O sistema de saúde poderia melhorar a vida dos negros americanos mais ainda do que uma Lei de Direitos Civis. – Isso significa que você desistiu dos direitos civis? – Não. A eleição de meio de mandato vai ser em novembro próximo. Vou pedir aos americanos que ponham mais democratas no Congresso de modo que eu possa cumprir minhas promessas de campanha.
– E eles vão fazer isso? – Provavelmente não. Os republicanos estão me atacando por causa da política externa. Nós perdemos Cuba, perdemos o Laos, e agora estamos perdendo o Vietnã. Tive que deixar Kruschev erguer uma cerca de arame farpado no meio de Berlim. Que droga... No momento estou imprensado contra a parede. – Que coisa estranha – refletiu Maria. – Você não pode deixar os negros do Sul votarem porque está vulnerável em relação à política externa. – Todo líder precisa parecer forte no cenário mundial, do contrário não consegue nada. – Você não poderia simplesmente tentar? Apresentar uma Lei de Direitos Civis, mesmo que provavelmente não consiga aprová-la? Pelo menos as pessoas vão saber que é sincero. Ele balançou a cabeça. – Se eu apresentar uma lei e for derrotado, parecerei fraco, e isso ameaçará todo o resto. E aí eu nunca mais terei uma segunda chance em relação aos direitos civis. – Então o que devo dizer ao meu avô? – Que fazer a coisa certa não é tão fácil quanto parece, mesmo quando se é presidente. Ele se levantou, e ela fez o mesmo. Secaram um ao outro com a toalha e foram para o quarto. Maria vestiu uma das camisas azuis macias que ele usava para dormir. Tornaram a fazer amor. Quando ele estava cansado, era tudo bem rápido como da primeira vez, mas nessa noite ele estava relaxado. Tornou-se brincalhão e os dois ficaram deitados na cama, divertindo-se com o corpo um do outro, como se nada mais no mundo importasse. Em seguida, ele adormeceu depressa. Maria ficou deitada ao seu lado, a mais feliz das mulheres. Não queria que chegasse a manhã, quando teria de se vestir, ir para a assessoria e começar seu dia de trabalho. Vivia no mundo real como se este fosse um sonho, esperando apenas a ligação de Dave Powers lhe avisando que podia acordar e voltar à única realidade que importava. Sabia que alguns de seus colegas deviam ter adivinhado o que estava acontecendo. Sabia que ele nunca deixaria a mulher para ficar com ela. Sabia que deveria se preocupar em evitar uma gravidez. Sabia que tudo o que estava fazendo era uma tolice, era errado, e jamais poderia ter um final feliz. E estava apaixonada demais para se importar.
George entendia por que Bobby estava tão feliz por poder mandá-lo conversar com King. Quando o secretário de Justiça precisava fazer pressão sobre o movimento pelos direitos civis, tinha mais chance de sucesso se o seu mensageiro fosse negro. Na opinião de George, Bobby estava certo em relação a Levison, mas mesmo assim seu papel não o deixava totalmente à vontade – sensação que começava a se tornar conhecida. Chovia e fazia frio em Atlanta. Verena o esperava no aeroporto, de sobretudo bege com
gola de pele. Estava linda, mas a rejeição de Maria ainda doía demais em George para ele sentir atração. – Eu conheço Stanley Levison – disse ela enquanto o conduzia de carro pela extensa área urbana da cidade. – Sujeito muito sincero. – Advogado, não é? – Mais do que isso. Ele ajudou Martin a escrever A caminho da liberdade. São bem próximos. – O FBI está dizendo que Levison é comunista. – Para o FBI, qualquer um que discorde de J. Edgar Hoover é comunista. – Bobby chamou Hoover de veadinho. Verena riu. – Acha que ele estava falando sério? – Sei lá. – Hoover, bicha? – Ela balançou a cabeça, incrédula. – É bom demais para ser verdade. A vida real nunca é tão engraçada assim. Ela foi dirigindo debaixo de chuva até o bairro de Old Fourth Ward, ocupado por centenas de estabelecimentos comerciais cujos donos eram negros. Parecia haver uma igreja por quarteirão. A Auburn Avenue um dia já fora chamada de a mais próspera rua negra dos Estados Unidos. A sede da Conferência da Liderança Cristã do Sul ficava no número 320. Verena parou diante de um prédio comprido de tijolo vermelho. – Bobby acha o Dr. King arrogante – comentou George. – Martin acha Bobby arrogante – rebateu Verena, dando de ombros. – E você, o que acha? – Que os dois têm razão. George riu. Gostava do senso de humor afiado de Verena. Eles correram pela calçada molhada até lá dentro. Então aguardaram quinze minutos em frente à sala de King antes de serem chamados. Martin Luther King era um belo homem de 33 anos, de bigode e cabelos pretos que rareavam prematuramente. Era baixo – George calculou que tivesse 1,68 metro – e meio gordinho. Estava usando um terno cinza-escuro bem passado, camisa branca e gravata fininha de cetim preto. Um lenço de seda despontava do bolso da frente do paletó, e ele usava abotoaduras grandes. George sentiu um leve cheiro de água-de-colônia. Teve a impressão de estar diante de um homem que achava importante ter uma aparência digna. Sentiu empatia: ele também era assim. King o cumprimentou com um aperto de mão e disse: – Da última vez que nos encontramos, você estava na Viagem da Liberdade a caminho de Anniston. Como vai o braço? – Totalmente bom, obrigado – respondeu George. – Larguei as competições de luta livre, mas já estava decidido a não continuar mesmo. Agora sou treinador de uma equipe em Ivy
City. – Ivy City era um bairro negro de Washington. – Que ótimo... Ensinar os negros a usarem sua força em um esporte disciplinado, com regras. Por favor, sente-se. – Ele acenou para uma cadeira e foi para trás de sua mesa. – Digame, por que o secretário de Justiça o mandou vir aqui falar comigo? Sua voz tinha um quê de orgulho ferido. Talvez King pensasse que Bobby deveria ter ido pessoalmente. George recordou que, no movimento pelos direitos civis, o apelido de King era Nosso Senhor. Expôs rapidamente o problema relacionado a Stanley Levison, sem deixar nada de fora, exceto o pedido de grampo. – Bobby me mandou aqui para insistir, com a maior ênfase possível, que o senhor rompa todos os vínculos com o Sr. Levison – concluiu. – É o único jeito de protegê-lo da acusação de conivência com os comunistas... uma acusação que pode causar danos incalculáveis ao movimento no qual ambos acreditamos. Depois que ele terminour, King falou: – Stanley Levison não é comunista. George abriu a boca para perguntar alguma coisa, mas King ergueu uma das mãos para silenciá-lo: não era homem de tolerar interrupções. – Stanley nunca foi membro do Partido Comunista. O comunismo é ateu, e eu, como seguidor de Jesus Cristo, não poderia ser amigo íntimo de um ateu. Mas... – Ele se inclinou por cima da mesa. – Essa não é toda a verdade. Ele passou algum tempo em silêncio, mas George sabia que não deveria dizer nada. – Vou lhe contar toda a verdade sobre Stanley Levison – retomou King por fim, e George teve a sensação de que estava prestes a ouvir um sermão. – Stanley tem talento para ganhar dinheiro. Isso o constrange. Ele sente que deveria passar a vida ajudando os outros. Portanto, quando era jovem, ele se deixou... enfeitiçar. Sim, é essa a palavra certa: deixou-se enfeitiçar pelos ideais do comunismo. Embora nunca tenha entrado para o partido, usou seus notáveis talentos para ajudar de várias formas o Partido Comunista dos Estados Unidos. Logo que viu como estava errado, rompeu a relação e passou a apoiar a causa da liberdade e da igualdade para os negros. Assim ficamos amigos. George esperou até ter certeza de que King havia terminado antes de falar: – Sinto muitíssimo ouvir isso, reverendo. Se Levison foi consultor financeiro do Partido Comunista, está maculado para sempre. – Mas ele mudou. – Eu acredito no senhor, mas outros não vão acreditar. Se continuar se relacionando com Levison, o senhor estará dando munição a seus inimigos. – Que seja, então – falou King. George ficou estupefato. – Como assim? – É preciso obedecer às regras morais mesmo quando elas não nos convêm. Caso
contrário, por que precisaríamos de regras? – Mas se o senhor pesar... – Nós não pesamos – retrucou King. – Stanley errou ao ajudar os comunistas. Ele se arrependeu e está se redimindo. Eu sou um pregador a serviço de Deus. Preciso perdoar como Jesus perdoa e receber Stanley de braços abertos. A alegria no céu será maior por um pecador arrependido do que por 99 justos. Eu próprio preciso com muita frequência da graça de Deus para evitar recusar o perdão a um semelhante. – Mas o custo... – George, eu sou um pastor cristão. A doutrina do perdão está profundamente enraizada em minha alma, mais até do que a liberdade e a justiça. Eu não iria retroceder nisso por nenhuma recompensa no mundo. George entendeu que sua missão estava condenada: King tinha sido absolutamente sincero. Não havia perspectiva nenhuma de ele mudar de ideia. Levantou-se. – Obrigado por gastar seu tempo me explicando seu ponto de vista. Sou grato por isso, e o secretário de Justiça também. – Vá com Deus – respondeu King. George e Verena saíram da sala e foram até a rua. Em silêncio, entraram no carro dela. – Vou deixá-lo no seu hotel – disse a moça. George assentiu. Estava pensando nas palavras de King. Não queria conversar. Seguiram em silêncio até ela parar em frente à porta do hotel. – E aí? – perguntou Verena por fim. – Ele me fez sentir vergonha de mim mesmo – respondeu George.
– É isso que os pregadores fazem – comentou sua mãe. – É o trabalho deles. É bom para você. Ela serviu um copo de leite e uma fatia de bolo para o filho. George não quis nenhum dos dois. Estavam ambos sentados na cozinha da casa dela, e George tinha lhe contado toda a história. – Ele foi tão forte... Quando entendeu o que era o certo, resolveu agir assim, qualquer que fosse o custo. – Não o ponha nas alturas além da conta – alertou Jacky. – Ninguém é santo, sobretudo se for homem. Era fim de tarde, e ela ainda estava usando as roupas do trabalho: vestido preto simples e sapatos sem salto. – Eu sei. Mas ali estava eu, tentando convencê-lo a romper com um amigo leal por motivos políticos cínicos, e tudo o que ele fez foi falar sobre certo e errado. – Como estava Verena?
– Queria que você a tivesse visto, com aquele sobretudo de gola de pele. – Você a levou para sair? – Fomos jantar. Ele não lhe dera um beijo de boa-noite. Do nada, Jacky falou: – Eu gosto de Maria Summers. George ficou espantado. – Como você a conhece? – Ela é sócia do clube. – Jacky era supervisora dos funcionários negros do Clube Feminino Universitário. – Não temos muitas sócias negras, então é claro que conversamos. Ela comentou que trabalhava na Casa Branca, eu lhe contei sobre você e percebemos que já se conheciam. Ela é de boa família. George achou graça naquilo. – E isso, como é que você sabe? – Ela levou os pais para almoçar. O pai é um advogado importante em Chicago. Conhece o prefeito Daley. – Daley era um grande aliado de Kennedy. – Você sabe mais sobre ela do que eu! – As mulheres escutam. Os homens falam. – Eu também gosto de Maria. – Que bom. – Ao se lembrar do assunto original da conversa, Jacky franziu a testa. – O que Bobby Kennedy falou quando você voltou de Atlanta? – Que vai autorizar o grampo de Levison. Ou seja, o FBI vai passar a escutar alguns dos telefonemas do Dr. King. – E qual é a real importância disso? Tudo o que King faz é para ser divulgado. – Eles talvez descubram com antecedência o que King pretende. Nesse caso, vão alertar os segregacionistas, que poderão se planejar e talvez encontrar jeitos de prejudicar as ações de King. – É ruim, mas não é o fim do mundo. – Eu poderia avisar a King sobre o grampo. Dizer a Verena para mandá-lo tomar cuidado com o que diz para Levison ao telefone. – Você estaria traindo a confiança dos seus colegas de trabalho. – É isso que me incomoda. – Na verdade, provavelmente teria de pedir demissão. – Exatamente. Porque eu me sentiria um traidor. – Além do mais, eles podem descobrir que alguém avisou e, quando buscarem o culpado, o único rosto negro que verão na sala será o seu. – Talvez eu devesse avisar mesmo assim, se for a coisa certa a fazer. – George, se você sair, não haverá nenhum rosto negro no círculo íntimo de Bobby Kennedy. – Eu sabia que você me diria para calar a boca e ficar.
– Não é fácil, mas sim, acho que é isso que você deveria fazer. – Eu também – concordou George.
CAPÍTULO DOZE
– Vocês moram em uma casa incrível – disse Beep Dewar a Dave Williams. Dave tinha 13 anos, morava ali desde que se entendia por gente e, na verdade, nunca havia reparado na casa. Ergueu os olhos para a fachada de tijolos no lado que dava para a o jardim, com suas fileiras regulares de janelas em estilo georgiano. – Incrível? – É tão antiga... – É do século XVIII, acho. Ou seja, deve ter só uns duzentos anos. – Só! – Beep riu. – Lá em São Francisco nada tem duzentos anos! O imóvel ficava na rua londrina chamada Great Peter Street, a poucos minutos a pé do Parlamento. A maioria das casas do bairro era do século XVIII, e Dave sabia vagamente que tinham sido construídas para os deputados e nobres que precisavam trabalhar na Câmara dos Comuns e na Câmara dos Lordes. Lloyd Williams, pai de Dave, era deputado na Câmara dos Comuns. – Você fuma? – perguntou Beep, sacando um maço. – Só quando tenho oportunidade. Ela lhe passou um cigarro, e cada um acendeu o seu. Ursula Dewar, que todos conheciam como Beep, também tinha 13 anos, mas parecia mais velha do que Dave. Usava sempre roupas americanas estilosas, suéteres justos, jeans apertados e botas. Afirmava já saber dirigir e chamava a rádio britânica de careta: só três estações, nenhuma das quais tocava rock ’n’ roll, e todas saíam do ar à meia-noite! Ao pegar Dave de olho nas pequenas protuberâncias que seus seios formavam na frente do suéter preto de gola rulê, não ficou sequer encabulada, apenas sorriu. Mas nunca chegou de fato a lhe dar uma chance de beijá-la. Ela não seria a primeira menina que Dave beijaria. Ele teria gostado de lhe dizer isso, só para o caso de ela o considerar inexperiente. Seria a terceira, contando com Linda Robertson – que ele contava, mesmo que a garota não tivesse retribuído o beijo. A questão era: ele sabia o que fazer. Só ainda não conseguira fazê-lo com Beep. Havia chegado bem perto. Discretamente, tinha passado o braço em volta de seus ombros no banco de trás do Humber Hawk do pai dela, mas Beep tinha virado o rosto e olhado para as ruas iluminadas pela luz dos postes. Ela não sentia cócegas. Os dois já tinham dançado o jive ao som do toca-discos Dansette no quarto de Evie, irmã de 15 anos de Dave, mas ela não quisera dançar coladinho quando ele pôs Elvis cantando “Are You Lonesome Tonight?”. Nem assim Dave perdera as esperanças. Infelizmente, aquele não era o momento certo: em pé no pequeno jardim em uma tarde de inverno, Beep com os braços em volta do corpo para
se aquecer, ambos ainda vestidos com suas roupas mais chiques. Estavam a caminho de um evento formal de família, mas depois haveria uma festa. Beep tinha um quarto de garrafa de vodca na bolsa para turbinar os refrigerantes que lhes seriam servidos enquanto seus pais, os hipócritas, se entupiam de uísque e gim. E aí tudo poderia acontecer. Ele encarou aqueles lábios cor-de-rosa que se fechavam em volta do filtro do Chesterfield e imaginou, cheio de desejo, como seria beijá-los. A mãe dele os chamou da casa com seu sotaque americano: – Crianças, venham, estamos saindo! Os dois jogaram os cigarros no canteiro de flores e entraram. As duas famílias estavam se reunindo no hall. A avó de Dave, Eth Leckwith, seria “apresentada” à Câmara dos Lordes, ou seja, viraria baronesa, passaria a ser chamada de Lady Leckwith e ocuparia um lugar de representante trabalhista na câmara alta do Parlamento. Os pais de Dave, Lloyd e Daisy, aguardavam ali com sua irmã Evie e um jovem amigo da família, Jasper Murray. Os Dewar, amigos da época da guerra, também estavam presentes. Woody Dewar era fotógrafo e estava em missão de trabalho em Londres por um ano; trouxera consigo a mulher, Bella, e os filhos Cameron e Beep. Todos os americanos pareciam fascinados pela pantomima da vida pública britânica, de modo que os Dewar iriam participar da comemoração. Foi um grupo grande que saiu da casa e tomou o rumo da Parliament Square. Enquanto percorria as ruas brumosas de Londres, Beep transferiu sua atenção de Dave para Jasper Murray. Jasper tinha 18 anos e parecia um viking: alto, ombros largos, cabelos louros. Estava usando um pesado paletó de tweed. Dave não via a hora de ser crescido e másculo como ele, e de ver Beep olhá-lo com aquela mesma expressão de admiração e desejo. Dave tratava Jasper como um irmão mais velho e havia pedido seu conselho: confessara-lhe que adorava Beep e não conseguia encontrar um jeito de conquistá-la. – Continue tentando – respondera Jasper. – Às vezes a simples persistência funciona. Dave agora podia ouvir a conversa dos dois. – Então você é primo de Dave? – perguntou Beep a Jasper enquanto atravessavam a Parliament Square. – Não exatamente – respondeu o rapaz. – Nós não somos parentes. – Então como você mora aqui sem pagar aluguel? – Minha mãe estudou com a mãe de Dave em Buffalo. Foi lá que elas conheceram o seu pai. Desde então, são todos amigos. Dave sabia que a história não era bem assim. Eva, mãe de Jasper, tivera de fugir da Alemanha nazista, e Daisy, mãe de Dave, a acolhera, com sua típica generosidade. Jasper, contudo, preferia minimizar o tamanho da dívida que sua família tinha para com os Williams. – O que você está estudando? – quis saber Beep. – Francês e alemão. Estou em St. Julian’s, um dos maiores colleges da Universidade de Londres. Mas o que mais faço é escrever para o jornal estudantil. Vou ser jornalista. Dave sentiu inveja. Ele jamais aprenderia francês nem estudaria na universidade. Era o
último da classe em tudo, para desespero do pai. – Onde estão seus pais? – perguntou Beep a Jasper. – Na Alemanha. Eles viajam pelo mundo com o Exército. Meu pai é coronel. – Coronel! – exclamou a adolescente, admirada. Evie, irmã de Dave, murmurou em seu ouvido: – O que essa vadiazinha pensa que está fazendo? Primeiro fica espichando o olho para você, depois paquera um cara cinco anos mais velho! Dave não comentou nada. Sabia que a irmã era apaixonada por Jasper. Poderia tê-la provocado, mas se conteve. Gostava dela, e além do mais era melhor guardar aquele tipo de informação para usar da próxima vez que ela o tratasse mal. – Não é preciso nascer aristocrata? – Beep estava perguntando. – Mesmo nas famílias mais antigas é preciso ter um primeiro nobre – respondeu Jasper. – Mas hoje em dia existem os nobres vitalícios, que não transmitem o título aos herdeiros. A Sra. Leckwith vai ser nobre vitalícia. – Vamos ter que fazer reverência para ela? Jasper riu. – Não, sua idiota. – A rainha vai assistir à cerimônia? – Não. – Que decepção! – Vaca burra – sussurrou Evie. Entraram no Palácio de Westminster pela Entrada dos Lordes. Foram recebidos por um homem em traje de corte completo, incluindo a calça curta na altura do joelho e as meias de seda. Dave ouviu a avó dizer em seu sotaque galês cadenciado: – Uniformes obsoletos são um sinal claro de uma instituição que precisa ser reformada. Dave e Evie frequentavam o prédio do Parlamento desde pequenos, mas para os Dewar aquela era uma experiência nova, e eles ficaram maravilhados. Beep se esqueceu de jogar charme para Jasper e exclamou: – Todas as superfícies são decoradas! Lajotas no chão, tapetes estampados, papéis de parede, forros de madeira, vitrais e pedra esculpida! Jasper a encarou com mais interesse. – É o típico estilo gótico vitoriano. – Ah, é? Dave estava começando a se irritar com o jeito como Jasper deixava Beep impressionada. O grupo se separou, e a maioria subiu vários lances de escada atrás de um guia até uma galeria da qual se via o plenário. Os amigos de Ethel já tinham chegado. Beep sentou-se ao lado de Jasper, mas Dave deu um jeito de ocupar o lugar do outro lado dela e Evie se acomodou junto ao irmão. Dave já tinha visitado inúmeras vezes a Câmara dos Comuns, situada no outro extremo do mesmo palácio, mas aquele ambiente era mais ornamentado e
tinha bancos de couro vermelho em vez de verdes. Após uma longa espera, houve uma movimentação lá embaixo e sua avó entrou em fila indiana com quatro outras pessoas, todas usando chapéus gozados e túnicas extremamente ridículas debruadas de pele. – Sensacional! – exclamou Beep, mas Dave e Evie riram baixinho. A procissão se deteve em frente a um trono e sua avó se ajoelhou, não sem alguma dificuldade, pois tinha 68 anos. Houve um grande passa-passa de pergaminhos que tiveram de ser lidos em voz alta. Daisy, mãe de Dave, explicava a cerimônia em voz baixa aos pais de Beep, o alto Woody e a roliça Bella, mas Dave não estava prestando atenção. Na verdade aquilo tudo era uma babaquice. Depois de algum tempo, Ethel e duas das pessoas que a acompanhavam sentaram-se em um dos bancos. Aí veio a parte mais engraçada de todas. Eles se sentaram, e imediatamente tornaram a se levantar. Tiraram os chapéus e fizeram uma reverência. Sentaram-se outra vez e recolocaram os chapéus na cabeça. Então repetiram tudo de novo, como três marionetes suspensas por cordões: levanta, tira o chapéu, reverência, senta, põe o chapéu de novo. A essa altura, Dave e Evie já quase não conseguiam mais segurar o riso. Então sua avó e os outros repetiram tudo uma terceira vez. Dave ouviu a irmã dizer, com a voz engasgada: – Parem, por favor, parem com isso! – o que o fez rir ainda mais. Daisy lhes lançou um olhar azul muito sério, mas ela própria era bem-humorada demais para não ver o lado engraçado daquilo, e no final acabou sorrindo também. Por fim, a cerimônia acabou e Ethel se retirou do plenário. Seus parentes e amigos se levantaram. Daisy os conduziu por um labirinto de corredores e escadas até uma sala no subsolo onde haveria a festa. Dave verificou que seu violão estava guardado direitinho em um canto. Ele e Evie iriam se apresentar, mas a estrela era ela; ele fazia apenas o acompanhamento. Em poucos minutos, a sala se encheu com cerca de cem pessoas. Evie encurralou Jasper e começou a lhe fazer perguntas sobre o jornal estudantil. Ele apreciava o assunto e respondeu com entusiasmo, mas Dave tinha certeza de que a paixonite da irmã era um caso perdido. Jasper era um rapaz que sabia cuidar dos próprios interesses. Naquele momento, tinha aposentos luxuosos, sem pagar aluguel, a uma curta viagem de ônibus d o college onde estudava. Na cínica opinião de Dave, não era provável que fosse desestabilizar esse confortável esquema iniciando um romance com a filha do casal que o hospedava. No entanto, Evie desviou a atenção de Jasper de Beep, deixando o caminho livre para Dave. Ele foi lhe buscar uma ginger beer e perguntou se ela havia gostado da cerimônia. Ethel chegou, agora com roupas normais: vestido vermelho, casaco no mesmo feitio e um pequeno chapéu pousado meio de banda sobre os cachos grisalhos. – Ela devia ser linda de morrer antigamente – sussurrou Beep.
Dave achou sinistro pensar na avó como uma mulher atraente. Ethel começou a falar: – É um prazer dividir este acontecimento com todos vocês. Só lamento que meu amado Bernie não tenha vivido para ver este dia. Ele foi o homem mais sensato que já conheci. – Bernie, avô de Dave, tinha morrido um ano antes. – É estranho ser chamada de Lady, principalmente para quem foi socialista a vida inteira – continuou ela, e todos riram. – Bernie decerto me perguntaria se eu derrotei meus inimigos ou simplesmente passei para o lado deles. Então vou lhes garantir uma coisa: eu entrei para a nobreza para abolir essa instituição. – Ouviram-se aplausos. – Estou falando sério, camaradas: abri mão do cargo de deputada por Aldgate porque pensei que estava na hora de alguém mais jovem assumir, mas não me aposentei ainda. Há injustiças demais em nossa sociedade, muitas moradias ruins e muita pobreza, muita fome pelo mundo... e pode ser que eu só tenha mais uns vinte ou trinta anos de campanha pela frente! – Mais risos. – O conselho que me deram foi que aqui, na Câmara dos Lordes, o mais sensato é escolher uma batalha e abraçá-la por inteiro, e eu já decidi qual vai ser a minha. Todos se calaram. As pessoas sempre queriam saber qual seria o próximo passo de Eth Leckwith. – Na semana passada, meu grande e velho amigo Robert von Ulrich morreu. Ele combateu na Primeira Guerra, teve problemas com os nazistas nos anos 1930 e acabou virando dono do melhor restaurante de Cambridge. Certa vez, quando eu era uma jovem costureira que trabalhava em um ateliê clandestino no East End, ele me pagou um vestido novo e me levou para jantar no Ritz. Além disso... – Ela empinou o queixo, desafiadora. – Além disso, ele era homossexual. Um sussurro audível de surpresa varreu a sala. – Caraca! – murmurou Dave. – Gostei da sua avó – falou Beep. As pessoas não estavam acostumadas a ver aquele assunto tratado de modo tão aberto, sobretudo por uma mulher. Dave sorriu. Sua avó era danada: depois de tantos anos, continuava dando trabalho. – Não precisam sussurrar, vocês na verdade nem estão chocados – disse ela, direta. – Todo mundo aqui sabe que existem homens que amam outros homens. Essas pessoas não fazem mal a ninguém. Pelo contrário! Na minha opinião, homens assim tendem a ser mais gentis do que os outros. Mas pelas leis do nosso país o que eles fazem é crime. E pior: inspetores de polícia à paisana se fazem passar por homens do mesmo tipo para fazê-los cair em armadilhas, prendê-los e jogá-los na cadeia. Penso que isso é tão ruim quanto perseguir as pessoas por serem judias, pacifistas ou católicas. Portanto, minha campanha aqui na Câmara dos Lordes vai ser a reforma das leis contra os homossexuais. Espero que todos vocês me desejem sorte. Obrigada. Ela recebeu aplausos entusiasmados. Dave imaginou que quase todo mundo ali naquela
sala de fato lhe desejava sorte. Ficou impressionado. Na sua opinião, prender veados era uma idiotice. A Câmara dos Lordes subiu no seu conceito: se ali era possível fazer campanha por aquele tipo de mudança, talvez o lugar não fosse totalmente ridículo. Por fim, Ethel falou: – E agora, em homenagem a nossos parentes e amigos americanos, uma música. Evie foi até a frente e Dave a seguiu. – Vovó é craque em dar às pessoas alguma coisa em que pensar – sussurrou Evie para o irmão. – E aposto que vai ter sucesso. – Em geral ela consegue o que quer. Ele pegou o violão e dedilhou a corda do sol. Evie começou a cantar na mesma hora. Ó, digam se podem ver, à luz nascente da aurora... Era o hino dos Estados Unidos. A maioria dos presentes era britânica, não americana, mas a voz de Evie fez todos prestarem atenção. O que com tanto orgulho anunciamos ao último brilho do entardecer... Dave na verdade achava aquele orgulho nacionalista uma babaquice, mas mesmo assim ficou um pouco emocionado. A culpa era da canção. Cujas largas listras e radiantes estrelas, durante a perigosa luta, Por cima das muralhas nós vimos, tremulando tão valorosa. O silêncio no recinto era tal que Dave podia ouvir a própria respiração. Evie tinha esse dom: quando subia ao palco, todos ficavam vidrados. E o clarão vermelho do foguete, as bombas a explodir no ar Demonstraram noite adentro que nossa bandeira lá estava Dave olhou para a mãe e viu Daisy enxugar uma lágrima. Ó, digam se a bandeira estrelada ainda tremula Acima da terra dos livres e do lar dos bravos. Todos aplaudiram e gritaram elogios. Dave tinha de dar crédito à irmã: Evie às vezes podia ser um pé no saco, mas tinha o dom de enfeitiçar uma plateia. Ele pegou outra ginger beer e olhou em volta à procura de Beep, mas não a viu na sala. Viu seu irmão mais velho, Cameron, que era um nojo. – Oi, Cam. Cadê a Beep? – Deve ter saído para fumar – respondeu o outro rapaz. Dave imaginou se conseguiria encontrá-la. Resolveu sair à sua procura. Pousou o copo. Chegou à saída ao mesmo tempo que a avó, então segurou a porta para ela passar. Ethel decerto estava a caminho do toalete feminino: ele tinha uma vaga noção de que as mulheres mais velhas faziam muito xixi. Ela sorriu para o neto e começou a subir uma escadaria coberta por um carpete vermelho. Como ele não sabia onde estava, foi atrás. No patamar intermediário, Ethel foi abordada por um senhor de idade apoiado em uma bengala. Dave reparou que ele usava um terno elegante de risca de giz cinza-claro. Um lenço
de seda estampado despontava do bolso da frente de seu paletó. Tinha o rosto todo manchado e cabelos brancos, mas era óbvio que já tinha sido um homem bonito. – Parabéns, Ethel – disse ele, apertando a mão de sua avó. – Obrigada, Fitz. Os dois pareciam se conhecer bem. Ele não soltou a mão dela. – Quer dizer que você agora é baronesa. Ela sorriu. – A vida não é estranha? – Fico pasmo. Como eles estavam impedindo a passagem, Dave ficou parado, esperando. Embora as palavras fossem triviais, um arrebatamento permeava a conversa. Dave não conseguiu identificar muito bem o que era. – Não lhe incomoda o fato de sua governanta ter ganhado um título de nobreza? – indagou ela. Governanta? Dave sabia que a avó começara a vida como empregada em uma mansão do País de Gales. Aquele homem devia ter sido seu patrão. – Parei de me importar com esse tipo de coisa há muito tempo – respondeu o homem. Depois de dar alguns tapinhas carinhosos na mão de Ethel, ele a soltou. – Durante o governo Attlee, para ser exato. Ethel riu. Estava claro que gostava de conversar com ele. Havia uma corrente subjacente poderosa em sua conversa, nem amor nem ódio, mas alguma outra coisa. Se os dois não fossem tão velhos, Dave teria pensado que fosse sexo. Já impaciente, ele pigarreou. – Este é meu neto, David Williams – apresentou ela. – Se você parou mesmo de se importar, talvez queira apertar a mão dele. Dave, esse é o conde Fitzherbert. O conde hesitou e por um instante Dave pensou que fosse recusar o cumprimento, mas então pareceu se decidir e estendeu-lhe a mão. Dave a apertou e perguntou: – Como vai? – Obrigada, Fitz – disse Ethel. Ou melhor, quase disse, mas pareceu engasgar antes de completar a frase. Sem falar mais nada, seguiu em frente. Educado, Dave meneou a cabeça para o velho conde e foi atrás dela. Instantes depois, Ethel desapareceu por uma porta na qual se lia “Damas”. Dave imaginou que devia ter havido alguma história entre sua avó e Fitz. Decidiu perguntar à mãe. Então viu uma saída que talvez fosse dar do lado de fora e esqueceu por completo os mais velhos. Passou pela porta e se viu em um pátio interno de formato irregular, cheio de latas de lixo. Seria o lugar perfeito para uns amassos discretos, pensou. Não era passagem, nenhuma janela dava para lá, e era cheio de cantinhos esquisitos. Sua esperança aumentou. Não viu sinal de Beep, mas sentiu cheiro de fumaça de cigarro.
Passou pelas latas de lixo e olhou pela quina. Ela estava ali, como ele esperava que estivesse, e segurava um cigarro na mão esquerda. Mas estava com Jasper, e os dois estavam agarrados em um abraço. Dave os encarou. Seus dois corpos pareciam colados um no outro e eles se beijavam com sofreguidão, a mão direita dela no meio dos cabelos dele, a direita dele sobre seu seio. – Jasper Murray, seu patife traidor – disse Dave antes de dar meia-volta e entrar de novo no prédio.
Na montagem escolar de Hamlet, Evie Williams sugeriu interpretar nua a cena da loucura de Ofélia. Essa simples ideia fez Cameron Dewar sentir um calor desconfortável. Cameron tinha adoração por Evie. Só detestava suas opiniões. Ela defendia qualquer causa apelativa que saísse nos jornais, da crueldade contra os animais ao desarmamento nuclear, e falava como se quem não fizesse o mesmo fosse obrigatoriamente bruto e estúpido. Mas Cameron estava acostumado: discordava da maioria das pessoas da sua idade e de todos os seus parentes. Seus pais eram liberais incorrigíveis e sua avó já havia sido editora de um jornal cujo título improvável era O Anarquista de Buffalo. A família Williams era igualmente ruim: todos de esquerda. O único outro residente da casa de Great Peter Street com um mínimo de bom senso era aquele aproveitador do Jasper Murray, que via tudo de modo mais ou menos cínico. Londres era um ninho de subversivos, pior ainda do que São Francisco, cidade natal de Cameron. Ele ficaria feliz quando a missão do pai acabasse e todos pudessem voltar para os Estados Unidos. Só que ficaria com saudades de Evie. Cameron tinha 15 anos e estava apaixonado pela primeira vez. Não queria viver um romance: tinha coisas de mais a fazer. No entanto, enquanto tentava decorar o vocabulário de francês e latim sentado em sua carteira escolar, pegou-se lembrando de Evie cantando o hino americano. Ela gostava dele, tinha certeza. Percebia que ele era inteligente e lhe fazia perguntas interessadas: como funcionavam as centrais nucleares? Hollywood era um lugar de verdade? Como os negros eram tratados na Califórnia? E o que era ainda melhor: escutava suas respostas com atenção, e não apenas por estar jogando conversa fora. Como ele, Evie não tinha o menor interesse por papo furado. Na fantasia de Cameron, os dois formariam um famoso casal de intelectuais. Naquele ano, Cameron e Beep estavam frequentando a mesma escola de Evie e Dave, um estabelecimento londrino progressista cuja maioria dos professores – até onde Cameron podia constatar – era comunista. A controvérsia relacionada à cena da loucura proposta por Evie rodou a escola em um piscar de olhos. O professor de teatro, Jeremy Faulkner, sujeito barbado que usava um cachecol listrado de universitário, aprovou a ideia. Mas o diretor não era tão
tolo assim e bateu o pé: nem pensar. Aquela era uma ocasião em que Cameron teria ficado contente em ver a decadência liberal prevalecer. As famílias Williams e Dewar foram juntas assistir à peça. Apesar de detestar Shakespeare, Cameron estava ansioso para ver do que Evie seria capaz no palco. A garota tinha um temperamento intenso que a presença de uma plateia parecia exacerbar. Segundo Ethel, sua neta era igual ao bisavô Dai Williams, pioneiro sindicalista e pregador evangélico. “Meu pai tinha nos olhos a mesma luzinha destinada à fama”, dissera Ethel. Cameron havia estudado Hamlet com atenção – do mesmo jeito que estudava tudo para tirar boas notas – e sabia que Ofélia era um papel notório por sua dificuldade. Supostamente patética, podia se tornar cômica com facilidade, com suas canções obscenas. Como uma menina de 15 anos poderia interpretar aquele papel e convencer uma plateia? Cameron não queria ver Evie passar vexame (embora, no fundo de sua mente, vivesse uma pequena fantasia na qual passava os braços em volta de seus ombros delicados e a reconfortava enquanto ela chorava por causa de seu humilhante fracasso). Com os pais e a irmã menor, Beep, ele entrou no auditório da escola, que também fazia as vezes de ginásio, de modo que recendia tanto a hinários empoeirados quanto a tênis molhados de suor. Eles se sentaram ao lado da família Williams: Lloyd, deputado trabalhista; sua esposa americana, Daisy; Eth Leckwith, a avó; e Jasper Murray, o jovem hóspede. Dave, irmão mais novo de Evie, estava em algum outro lugar organizando um bar que funcionaria no intervalo. Em várias ocasiões durante os últimos poucos meses, Cameron tinha ouvido a história de como sua mãe e seu pai haviam se encontrado pela primeira vez ali em Londres, durante uma festa dada por Daisy. Seu pai levara sua mãe em casa; toda vez que Woody contava a história, um brilho estranho surgia em seus olhos, e Bella lhe lançava um olhar que significava Cale essa droga dessa boca neste instante, e ele não dizia mais nada. Cameron e Beep se perguntavam, maliciosos, o que seus pais teriam feito no caminho. Alguns dias depois, seu pai tinha sido lançado de paraquedas na Normandia e sua mãe pensara que nunca mais o veria, mas mesmo assim rompera o noivado com outro homem. – Minha mãe ficou uma fera – dizia Bella. – Ela nunca me perdoou. Cameron achava os assentos do auditório desconfortáveis até mesmo para a meia hora de assembleia matinal. Aquela noite seria um verdadeiro purgatório. Sabia muito bem que a peça inteira durava mais de cinco horas, mas Evie lhe garantira que aquela era uma versão reduzida. Cameron se perguntou quão reduzida seria. – O que Evie vai usar na cena da loucura? – perguntou a Jasper, sentado ao seu lado. – Não sei – respondeu o rapaz. – Ela não quis contar a ninguém. As luzes se apagaram e a cortina subiu diante das ameias de Elsinore. As pinturas que constituíam o cenário eram obra de Cameron. Dono de uma forte sensibilidade visual decerto herdada do pai fotógrafo, ele estava particularmente satisfeito com o modo como a lua pintada escondia um canhão de luz mirado na sentinela.
Não havia mais grande coisa para se apreciar. Todas as montagens escolares que Cameron vira na vida eram horríveis, e aquela não seria nenhuma exceção. O menino de 17 anos que interpretava Hamlet tentava ser enigmático, mas só conseguia parecer engessado. Mas com Evie foi diferente. Na primeira cena em que aparecia, Ofélia tinha pouco a fazer além de ouvir a conversa entre o irmão condescendente e o pai pomposo, até no final alertar o irmão dizendo-lhe que não fosse hipócrita em um curto discurso que Evie recitou com um deleite irritado. Na segunda cena, porém, ao contar para o pai sobre como Hamlet, enlouquecido, tinha invadido seus aposentos pessoais, ela desabrochou. No início se mostrou frenética, depois ficou mais calma, mais calada e concentrada, até que a plateia mal parecia se atrever a respirar quando ela disse: “Ele deu um suspiro tão lamentável, tão profundo.” Então, na cena seguinte, quando Hamlet, enfurecido, tentava convencê-la a entrar para um convento, pareceu tão atarantada e magoada que Cameron teve vontade de pular para cima do palco e dar um soco no ator. Jeremy Faulkner havia tomado a sábia decisão de encerrar a primeira metade do espetáculo nesse ponto, e os aplausos foram estrondosos. No intervalo, Dave estava encarregado de um bar que vendia bebidas sem álcool e balas. Uma dezena de amigos seus serviam o mais depressa possível. Cameron ficou impressionado: nunca tinha visto alunos de escola trabalharem tão duro. – Deu algum remédio para eles? – perguntou a Dave enquanto pegava um copo de refrigerante de cereja. – Nada – respondeu Dave. – Só uma comissão de vinte por cento sobre tudo o que venderem. Cameron estava torcendo para Evie sair e falar com a família durante o intervalo, mas a garota ainda não tinha aparecido quando o sinal tocou anunciando o segundo ato, e ele voltou a seu lugar decepcionado, mas ansioso para ver o que ela faria a seguir. Hamlet melhorou quando teve de agredir Ofélia com piadas sujas na frente de todo mundo. Talvez aquele comportamento fosse natural para o ator, pensou Cameron, pouco gentil. O constrangimento e a perturbação de Ofélia aumentaram até as raias da histeria. Mas foi a cena da loucura que fez a casa vir abaixo. Ela entrou parecendo a paciente de um hospício, com uma camisola de algodão fino manchada e suja que só descia até o meio da coxa. Longe de inspirar pena, mostrou-se cruel e agressiva, como uma puta bêbada na rua. Quando disse: “A coruja era filha de um padeiro”, frase que, na opinião de Cameron, não queria dizer nada, conseguiu fazê-la soar como uma vil provocação. Cameron ouviu a mãe sussurrar para o pai: – Não acredito que essa menina tem só 15 anos. Na fala “Homens jovens talvez façam isso quando chegam ao limite, e a culpa é do pau”, Ofélia tentou agarrar os genitais do rei e arrancou risinhos nervosos da plateia. Então houve uma súbita mudança. Lágrimas rolaram por seu rosto, e sua voz se transformou
quase num sussurro quando ela falou no pai morto. A plateia silenciou. Ela virou novamente criança ao dizer: “Não posso senão chorar, ao pensar que eles vão enterrá-lo no chão frio.” Cameron sentiu vontade de chorar também. Ela então revirou os olhos, cambaleou e berrou, fora de si, com a mesma voz rascante de um velha bruxa: “Venha, meu coche!” Levou as duas mãos à gola da camisola e a rasgou na frente. A plateia arquejou. “Boa noite, senhoras!”, gritou, deixando a roupa cair no chão. Nua em pelo, ainda tornou a gritar: “Boa noite, boa noite, boa noite!” Então saiu correndo. Depois disso, a peça morreu. O coveiro não foi engraçado, e a luta de espadas do final, de tão artificial, chegou a ser tediosa. Cameron não conseguia pensar em outra coisa senão Ofélia nua delirando de loucura na boca de cena, os seios pequenos empinados, os pelos do púbis de um tom ruivo flamejante, uma linda moça que perdera a razão. Imaginou que todos os homens da plateia deviam estar sentindo a mesma coisa. Ninguém dava a mínima para Hamlet. Quando o pano caiu, os aplausos mais fortes foram para Evie. No entanto, o diretor não subiu ao palco para fazer os elogios rasgados e os extensos agradecimentos que em geral até mesmo a mais sofrível montagem de teatro amador recebia. Ao sair do auditório, todos olhavam para a família de Evie. Tentando não se deixar abater, Daisy conversava animadamente com outros pais. Já Lloyd, vestido com um severo terno cinza-escuro de três peças, não dizia nada, mas tinha o semblante sério. Eth Leckwith, avó de Evie, exibia um leve sorriso: talvez tivesse lá as suas reservas, mas não iria reclamar. A família de Cameron também exibiu reações diversas: Bella tinha os lábios franzidos de reprovação, e Woody sorria com um ar de tolerância bem-humorada. Beep estava quase explodindo de tanta admiração. – Sua irmã é um estouro – disse Cameron a Dave. – Também gosto da sua – retrucou Dave, sorrindo com ironia. – Ofélia roubou a cena de Hamlet! – Evie é um gênio – retrucou Dave. – Nossos pais ficam subindo pelas paredes. – Por quê? – Eles não acham que o mundo artístico seja um trabalho sério. Querem que nós dois entremos para a política. – Ele revirou os olhos. Woody Dewar entreouviu a conversa. – Eu tive o mesmo problema – comentou. – Meu pai era senador dos Estados Unidos, e meu avô também foi. Eles não conseguiam entender por que eu queria ser fotógrafo. Simplesmente não lhes parecia um trabalho de verdade. Woody agora trabalhava para a Life, decerto a melhor revista fotográfica do mundo depois da Paris Match. As duas famílias foram até as coxias. Evie saiu do camarim feminino com um ar bemcomportado, de twin set e saia abaixo dos joelhos, roupa obviamente escolhida para dizer: Eu não sou sexualmente exibida; aquela era Ofélia. No entanto, ostentava também uma expressão de discreto triunfo. O que quer que as pessoas dissessem sobre sua nudez, ninguém
podia negar que a sua atuação havia arrebatado a plateia. O primeiro a falar foi seu pai: – Só espero que você não seja presa por atentado ao pudor. – Na verdade eu não planejei aquilo – disse Evie, como se ele houvesse acabado de lhe fazer um elogio. – Foi meio que de última hora. Não sabia nem se a camisola iria rasgar. Até parece, pensou Cameron. Jeremy Faulkner apareceu, com o cachecol universitário que era sua marca registrada. Ele era o único professor que permitia aos alunos o chamarem pelo primeiro nome. – Foi sensacional! – elogiou. – Que instante memorável! Seus olhos brilhavam de animação. Ocorreu a Cameron que Jeremy também estava apaixonado por Evie. – Jerry, esses são meus pais, Lloyd e Daisy Williams – disse ela. O professor pareceu momentaneamente amedrontado, mas logo se recuperou. – Sra. Williams, Sr. Williams, vocês devem estar ainda mais surpresos do que eu – declarou, isentando-se habilmente de qualquer responsabilidade. – Precisam saber que Evie é a aluna mais brilhante que já tive. Ele apertou a mão de Daisy, em seguida a de Lloyd, que visivelmente relutou. – Você está convidado para a festa do elenco – disse Evie a Jasper. – Meu convidado de honra. – Festa? – indagou Lloyd, de testa franzida. – Depois daquilo? Na sua opinião, uma comemoração não era adequada. Daisy tocou seu braço. – Não tem problema – disse ela. Lloyd deu de ombros. – Só por uma hora – falou Jeremy, animado. – Amanhã é dia de aula! – Eu sou velho demais, me sentiria deslocado – observou Jasper. – Você é só um ano mais velho do que os alunos do último ano – protestou Evie. Cameron se perguntou por que diabo ela fazia questão da presença dele. Ele era mesmo velho demais. Já estava na universidade: uma festa de colegiais não era o seu lugar. Felizmente, Jasper concordou com ele. – Nos vemos em casa – falou, firme. – Não depois das onze, por favor – interpôs Daisy. Os pais foram embora. – Meu Deus, você conseguiu! – disse Cameron. Evie sorriu. – Eu sei. Todos comemoraram com café e bolo. Cameron desejou que Beep estivesse presente para pôr um pouco de vodca no café, mas como ela não participara da produção, já tinha ido para casa, assim como Dave.
Evie era o centro das atenções. Até o menino que havia interpretado Hamlet reconheceu que ela era a estrela da noite. Jeremy Faulkner não conseguia parar de falar sobre como a sua nudez havia expressado a vulnerabilidade de Ofélia. Seus elogios a Evie se tornaram constrangedores, e depois de algum tempo até meio sinistros. Paciente, Cameron aguardou e deixou que eles a monopolizassem, sabendo que o maior dos trunfos era seu: era ele quem a levaria para casa. Às dez e meia, foram embora. – Que bom que meu pai teve essa missão aqui em Londres – comentou Cameron enquanto os dois ziguezagueavam pelas ruas secundárias. – Detestei ter que sair de São Francisco, mas aqui é bem legal. – Que bom – disse Evie, sem animação. – E a melhor parte foi ter conhecido você. – Que gentil. Obrigada. – Isso realmente mudou a minha vida. – Até parece. A coisa não estava tomando o rumo que Cameron havia imaginado. Os dois estavam sozinhos nas ruas desertas, falando em voz baixa enquanto caminhavam bem juntinhos pelos círculos de luz dos postes e pelos trechos escuros, mas não havia sensação alguma de intimidade. Pareciam mais duas pessoas jogando conversa fora. Mesmo assim, ele não iria desistir. – Quero que sejamos amigos próximos – falou. – Nós já somos – respondeu ela, com certa impaciência na voz. Quando chegaram a Great Peter Street, ele ainda não tinha dito o que queria dizer. Ao se aproximarem da casa, parou. Como ela deu outro passo à frente, ele a segurou pelo braço. – Evie, estou apaixonado por você. – Ai, Cam, não seja ridículo. Cameron teve a sensação de ter levado um soco. Evie tentou seguir em frente. Cameron apertou um pouco mais seu braço, agora sem ligar para o fato de talvez a estar machucando. – Ridículo? – repetiu. Sua voz tremeu de modo constrangedor, e quando ele tornou a falar saiu mais firme. – Ridículo por quê? – Você não sabe de nada – disse ela, com irritação. Aquela acusação o deixou particularmente magoado. Cameron se orgulhava de saber muita coisa, e supusera que ela o apreciasse por isso. – Do que eu não sei? – indagou. Ela arrancou o braço da mão dele com um tranco violento. – Eu estou interessada no Jasper, seu idiota – falou antes de entrar em casa.
CAPÍTULO TREZE
De manhã, enquanto ainda estava escuro, Rebecca e Bernd transaram mais uma vez. Fazia três meses que os dois estavam morando juntos na velha casa no bairro de Mitte. Era uma sorte a casa ser grande, pois lá moravam também os pais de Rebecca, Werner e Carla, seus irmãos, Walli e Lili, e sua avó, Maud. Durante algum tempo, o amor os havia consolado de tudo o que tinham perdido. Estavam ambos desempregados e a polícia secreta os impedia de conseguir trabalho, apesar da desesperadora escassez de professores na Alemanha Oriental. Mas os dois estavam sendo investigados por parasitismo social, o crime de estar desempregado em um país comunista. Mais cedo ou mais tarde seriam condenados e presos. Bernd iria para um campo de trabalhos forçados, onde provavelmente morreria. Por isso planejavam fugir. Aquele era o último dia inteiro que passariam em Berlim Oriental. Quando Bernd deslizou a mão delicadamente por baixo da camisola de Rebecca, ela falou: – Estou nervosa demais. – Pode ser que não tenhamos muitas outras oportunidades. Ela o abraçou e apertou com força. Sabia que ele tinha razão. Os dois poderiam morrer tentando fugir. Ou pior: um poderia morrer e o outro, não. Bernd estendeu a mão para pegar um preservativo. Eles haviam combinado se casar quando chegassem ao mundo livre, e evitar a gravidez até lá. Se os seus planos dessem errado, Rebecca não queria criar um filho na Alemanha Oriental. Apesar de todos os medos que a atormentavam, ela foi tomada pelo desejo e reagiu com vigor ao toque de Bernd. A paixão era uma descoberta recente. Sua vida sexual com Hans fora razoavelmente agradável na maior parte das vezes, bem como as experiências com dois amantes anteriores, mas ela nunca se sentira inundada pelo desejo daquela forma, possuída por ele de maneira tão completa a ponto de esquecer todo o resto. Agora, a possibilidade de aquela ser a última vez tornou seu desejo ainda mais intenso. Ao fim, ele comentou: – Você é uma leoa. Ela riu. – Nunca fui assim antes. É por sua causa. – É por nossa causa – disse ele. – Somos certos um para o outro. Depois de recuperar o fôlego, ela falou: – Pessoas fogem todos os dias. – Ninguém sabe quantas.
Os fugitivos atravessavam canais e rios a nado, escalavam cercas de arame farpado, escondiam-se em carros e caminhões. Os alemães-ocidentais, que tinham autorização para entrar em Berlim Oriental, levavam passaportes falsos da Alemanha Ocidental para seus parentes. Soldados aliados podiam circular livremente, de modo que um morador da Alemanha Oriental comprou um uniforme americano em uma loja de fantasias para teatro e passou por um posto de controle sem ser interpelado. – E muitas morrem – completou Rebecca. Os guardas de fronteira não tinham dó nem vergonha: atiravam para matar. Às vezes, como lição para os outros, deixavam os feridos sangrarem até morrer. A pena por tentar sair do paraíso comunista era a morte. Rebecca e Bernd estavam planejando fugir pela Bernauer Strasse. Uma das sombrias ironias do Muro era que, em algumas ruas, os prédios ficavam em Berlim Oriental, mas a calçada ficava na parte ocidental. Ao abrirem suas portas no domingo, 13 de agosto de 1961, os moradores do lado leste da Bernauer Strasse tinham se deparado com uma cerca de arame farpado que os impedia de sair à rua. No início, muitos pularam das janelas dos andares mais altos rumo à liberdade, alguns se machucando, outros aterrissando em um cobertor providenciado pelos bombeiros de Berlim Ocidental. Agora, todos esses prédios tinham sido evacuados, e janelas e portas, lacradas com tábuas de madeira. O plano de Rebecca e Bernd era diferente. Eles se vestiram e foram tomar café da manhã com a família, provavelmente o último que tomariam em muito tempo. Foi uma tensa repetição da refeição feita em 13 de agosto do ano anterior, quando a família inteira estava triste e aflita: Rebecca planejava ir embora, mas não arriscando a vida. Dessa vez, eles estavam com medo. Ela tentou se mostrar animada. – Talvez um dia vocês todos nos sigam até o outro lado da fronteira – falou. – Você sabe que não vamos fazer isso – disse Carla. – Você precisa ir, não tem mais vida nenhuma aqui. Mas nós vamos ficar. – E o trabalho do papai? – Por enquanto, estou conseguindo levar – respondeu Werner. Ele não podia mais ir à sua fábrica, que ficava em Berlim Ocidental. Estava tentando administrá-la a distância, mas era quase impossível. Como não havia serviço telefônico entre as duas partes de Berlim, era obrigado a fazer tudo pelo correio, que sempre tinha a probabilidade de ser atrasado pelos censores. A situação era uma agonia para Rebecca. Sua família era a coisa mais importante do mundo, mas ela estava sendo forçada a abandoná-la. – Bem, não há muro que dure para sempre – disse ela. – Um dia Berlim será unificada outra vez, e então poderemos ficar juntos de novo. Alguém tocou a campainha e Lili pulou da mesa. – Espero que seja o carteiro com as contas da fábrica – disse Werner.
– Eu vou atravessar o Muro assim que puder – falou Walli. – Não vou passar a vida na parte oriental com algum velho comunista me dizendo que música tocar. – Você vai poder tomar sua própria decisão assim que for adulto – observou Carla. Lili voltou à cozinha com um ar amedrontado. – Não é o carteiro – falou. – É Hans. Rebecca deixou escapar um gritinho. Seu ex-marido não tinha como saber sobre seu plano de fugir, ou tinha? – Ele está sozinho? – indagou Werner. – Acho que sim. – Lembra o que fizemos com Joachim Koch? – perguntou Maud a Carla. Carla olhou para os filhos. Ficou claro que eles não deveriam saber o que as duas tinham feito com Joachim Koch. Werner foi até o armário da cozinha e abriu a gaveta de baixo, cheia de panelas pesadas. Puxou-a até o fim e a pôs no chão. Então enfiou a mão lá no fundo e trouxe de volta uma pistola preta com cabo marrom e uma pequena caixa de munição. – Meu Deus do céu – comentou Bernd. Rebecca não sabia grande coisa sobre armas, mas achava que aquilo fosse uma Walther P38. Seu pai a devia ter guardado depois da guerra. O que teria acontecido com Joachim Koch?, pensou. Será que ele fora morto? Por sua mãe? E por sua avó? – Se Hans Hoffmann tirar você desta casa, nós nunca mais vamos vê-la – disse Werner a Rebecca. Então começou a carregar a pistola. – Talvez ele não tenha vindo prender Rebecca – falou Carla. – É verdade – concordou seu marido. Virou-se para Rebecca. – Vá falar com ele. Descubra o que ele quer. Se precisar, grite. Rebecca se levantou. Bernd fez o mesmo. – Você não – disse-lhe Werner. – Se ele o vir, pode ficar com raiva. – Mas... – Papai tem razão – observou Rebecca. – Apenas fique a postos para me acudir se eu chamar. – Tudo bem. Rebecca respirou fundo, acalmou-se e foi até o hall. Hans estava postado lá com seu terno cinza-azulado novo, usando a gravata listrada que ela lhe dera de presente em seu último aniversário. – Eu trouxe os papéis do divórcio – disse ele. Rebecca assentiu. – Você estava esperando que eles chegassem, claro. – Podemos conversar sobre o assunto? – Tem alguma coisa a dizer?
– Talvez. Ela abriu a porta da sala de jantar, usada de vez em quando para jantares formais ou então para fazer os deveres de casa. Os dois entraram e se sentaram. Rebecca não fechou a porta. – Tem certeza de que é isso que você quer? – perguntou Hans. Rebecca estava com medo. Será que ele estava se referindo à fuga? Será que ele sabia? Conseguiu articular: – Isso o quê? – O divórcio. Ela não entendeu. – Por que não? É o que você quer, também. – Será? – Hans, o que você está tentando dizer? – Que nós não precisamos nos divorciar. Poderíamos começar de novo. Desta vez sem fingimento. Agora que você sabe que eu trabalho na Stasi, não haveria por que mentir. Aquilo parecia um sonho idiota em que coisas impossíveis acontecem. – Mas por quê? – indagou ela. Hans se inclinou para a frente por cima da mesa. – Você não sabe? Não consegue nem adivinhar? – Não, não consigo! – respondeu ela, embora começasse a vislumbrar uma sinistra suspeita. – Eu te amo – disse Hans. – Pelo amor de Deus! – gritou Rebecca. – Como você pode dizer uma coisa dessas? Depois de tudo o que fez? – Estou falando sério. No início eu estava fingindo, mas depois de um tempo percebi a mulher maravilhosa que você é. Eu quis me casar com você, não foi só por causa do trabalho. Você é linda, inteligente e dedicada ao magistério... Eu admiro a sua dedicação. Nunca conheci uma mulher como você. Rebecca, volte para mim... por favor. – Não! – exclamou ela. – Pense um pouco. Espere um dia. Uma semana. – Não! Apesar de ela gritar sua recusa o mais alto que podia, ele continuava agindo como se ela estivesse bancando a difícil e fingindo relutância. – Vamos tornar a conversar – falou, com um sorriso. – Não! – berrou ela. – Nunca! Nunca! Nunca! – E saiu correndo da sala. Toda sua família estava junto à porta aberta da cozinha com cara de assustada. – O que houve? – perguntou Bernd. – Ele não quer se divorciar – respondeu Rebecca, gemendo. – Está dizendo que me ama. Quer começar de novo... quer tentar outra vez! – Vou esganar esse filho da puta – falou Bernd.
Mas não houve necessidade alguma de contê-lo. Nesse instante, eles ouviram a porta da frente bater. – Ele foi embora – disse Rebecca. – Graças a Deus. Bernd a abraçou e ela enterrou o rosto em seu ombro. – Bem, por essa eu não esperava – falou Carla com a voz trêmula. Werner descarregou a pistola. – Essa história não acabou – afirmou Maud. – Hans vai voltar. Oficiais da Stasi acham que as pessoas comuns não podem lhes dizer não. – E eles têm razão – completou Werner. – Rebecca, vocês precisam ir embora hoje. Ela se afastou do abraço de Bernd. – Ah, não... hoje? – Agora – insistiu seu pai. – Você está correndo um perigo terrível. – Ele tem razão – falou Bernd. – Talvez Hans volte com reforços. Precisamos fazer agora mesmo o que estávamos planejando fazer amanhã de manhã. – Tudo bem – concordou Rebecca. Os dois subiram correndo a escada até seu quarto. Bernd vestiu seu terno preto de camurça com camisa branca e gravata preta, como se estivesse a caminho de um funeral. Rebecca também se vestiu toda de preto. Ambos calçaram sapatos esportivos pretos. Embaixo da cama, Bernd pegou uma corda de varal que havia comprado na semana anterior. Passou-a em volta do corpo como uma bandoleira, depois vestiu uma jaqueta de couro marrom por cima para escondê-la. Rebecca pôs um sobretudo escuro curto por cima do suéter preto de gola rulê e da calça preta. Em poucos minutos, os dois ficaram prontos. O resto da família os aguardava no hall. Rebecca abraçou e beijou cada um deles. Lili chorava. – Não deixe ninguém te matar – falou, aos soluços. Bernd e Rebecca calçaram luvas de couro e foram até a porta. Acenaram para a família mais uma vez, então saíram.
Walli os seguiu a uma curta distância. Queria ver como eles fariam. Os dois não haviam contado seu plano a ninguém, nem mesmo aos membros da família. Carla dizia que o único jeito de guardar um segredo era não dividi-lo com ninguém. Ela e Werner defendiam ardentemente essa opinião, o que fazia Walli desconfiar de que ela vinha das misteriosas experiências durante a guerra que seus pais nunca haviam explicado direito. O rapaz dissera aos outros que ia tocar no quarto. Em vez de violão, agora tocava guitarra. Quando não ouvissem barulho, seus pais imaginariam que ele estivesse praticando sem ligá-la
na tomada. Ele saiu pela porta dos fundos sem se fazer notar. Rebecca e Bernd caminhavam de braços dados. Andavam depressa, mas não tão apressados a ponto de chamar atenção. Eram oito e meia, e a bruma da manhã começava a se dissipar. Foi fácil para Walli seguir o casal, e ele podia ver o calombo que o varal fazia no ombro de Bernd. Nenhum dos dois olhou para trás, e os tênis que ele calçava não faziam ruído no chão. Reparou que os dois também estavam de tênis, e perguntou-se por quê. Sentia-se ao mesmo tempo animado e assustado. Que manhã espantosa! Quase caíra para trás ao ver o pai puxar aquela gaveta e sacar uma pistola. O coroa estava pronto para atirar em Hans Hoffmann! Talvez no fim das contas seu pai não fosse um velho bobo e caquético. Walli estava com medo pela irmã que tanto amava. Nos próximos minutos, ela poderia ser morta. Mas estava também empolgado: se ela podia fugir, ele também podia. Continuava decidido a ir embora. Após desafiar o pai desacatando suas ordens e indo à boate Minnesänger, acabara não ficando encrencado: segundo Werner, a destruição de seu violão já era punição suficiente. Mas ainda assim Walli sofria sob o jugo de dois tiranos, Werner Franck e o secretário-geral Walter Ulbricht, e pretendia se libertar de ambos na primeira oportunidade. Rebecca e Bernd chegaram a uma rua que conduzia direto ao Muro. Dava para ver dois guardas de fronteira no extremo oposto, batendo com as botas no chão para espantar a friagem da manhã. Traziam penduradas nos ombros submetralhadoras soviéticas PPSh-41 com carregamento de tambor. Walli não via qualquer chance de alguém escalar o arame farpado com aqueles dois olhando. Mas Rebecca e Bernd saíram da rua e entraram em um cemitério. Walli não pôde segui-los pelos caminhos entre as lápides: ficaria visível demais no espaço aberto. Caminhou rapidamente em um ângulo reto em relação à sua trajetória até chegar atrás da capela situada no meio do cemitério. Espiou pela quina do prédio. Eles obviamente não o tinham visto. Observou-os andar até o canto noroeste do cemitério. Lá havia uma cerca de aramado, e depois disso o quintal dos fundos de uma casa. Os tênis estão explicados, pensou Walli. Mas e o varal?
Apesar de os prédios da Bernauer Strasse estarem em ruínas, as ruas laterais ainda eram ocupadas normalmente. Rebecca e Bernd, tensos e amedrontados, esgueiraram-se pelo quintal dos fundos de uma casa em uma dessas vias adjacentes, a cinco portas do fim da rua, onde esta era interrompida pelo Muro. Escalaram uma segunda cerca, depois uma terceira, aproximando-se cada vez mais do Muro. Rebecca tinha 30 anos e era ágil, e Bernd, apesar de
ter 40 e poucos, estava em boa forma: fora treinador do time de futebol da escola. Os dois chegaram aos fundos da antepenúltima casa. Já tinham visitado o cemitério uma vez, igualmente vestidos de preto para se fazer passar por um casal enlutado, mas seu verdadeiro objetivo fora examinar as construções. A visão não fora perfeita e eles não podiam se dar ao luxo de usar binóculos, mas tinham quase certeza de que a antepenúltima casa proporcionaria uma rota possível até o telhado. Um telhado conduzia a outro, e finalmente ia dar nos prédios vazios da Bernauer Strasse. Agora que estava mais próxima, Rebecca ficou ainda mais apreensiva. Eles tinham planejado subir por um depósito de carvão baixo, depois por um barracão de telhado chato, e enfim por um beiral com um peitoril de janela saliente. Só que, do cemitério, todas as alturas davam a impressão de ser menores. De perto, a escalada parecia gigantesca. Não podiam entrar na casa, pois havia o risco de os moradores darem o alarme. Se não o fizessem, seriam severamente punidos depois. Os telhados úmidos de orvalho deviam estar escorregadios, mas pelo menos não chovia. – Está pronta? – perguntou Bernd. Não. Ela estava aterrorizada, isso sim. – Caramba, estou – respondeu. – Você é uma leoa. O depósito de carvão batia na altura do peito. Eles subiram nele. Seus sapatos macios quase não fizeram barulho. Dali, Bernd apoiou os dois cotovelos na borda do telhado chato do barracão e içou-se até lá em cima. Deitado de bruços, estendeu a mão e puxou Rebecca. Ambos ficaram em pé no telhado. Rebecca sentia-se muito exposta e ficou tonta, mas ao olhar em volta não viu ninguém a não ser uma silhueta distante no cemitério. A parte seguinte era um desafio. Bernd pôs um joelho no peitoril da janela, mas o espaço era estreito demais. Felizmente, as cortinas estavam fechadas, assim ninguém que porventura estivesse lá dentro conseguiria ver nada, a menos que escutasse algum barulho e fosse investigar. Com certa dificuldade, conseguiu subir o outro joelho até o peitoril. Apoiado no ombro de Rebecca, conseguiu ficar em pé. Com os pés agora bem plantados apesar do peitoril estreito, ajudou-a a subir. Ela se ajoelhou na saliência e tentou não olhar para baixo. Bernd estendeu a mão para a beirada oblíqua do telhado inclinado, a etapa seguinte de sua escalada. De onde estava, não podia subir no telhado: a única coisa que havia para se segurar era a borda de uma telha. Eles já tinham conversado sobre esse problema. Ainda ajoelhada, Rebecca se preparou. Bernd apoiou um dos pés sobre seu ombro direito. Segurando-se na beira do telhado para se equilibrar, apoiou todo o peso do corpo em cima dela. Doeu, mas ela aguentou firme. Instantes depois, ele colocou o pé esquerdo em seu ombro esquerdo. Assim equilibrado, ela podia sustentá-lo – por alguns segundos. Um instante depois, ele passou a perna pela beirada das telhas e rolou para cima do
telhado. Espichou bem os braços e pernas para aumentar o máximo possível a aderência, então estendeu a mão para baixo. Com uma das mãos enluvadas, segurou firme a gola do casaco de Rebecca, enquanto ela se agarrava ao seu braço. De repente, as cortinas foram abertas e um rosto de mulher encarou Rebecca a poucos centímetros de distância. A mulher gritou. Com esforço, Bernd ergueu Rebecca até ela conseguir passar a perna pela borda inclinada do telhado, e então a puxou na sua direção até um lugar seguro. Mas os dois perderam aderência e começaram a escorregar. Rebecca abriu os braços e pressionou nas telhas as palmas das mãos enluvadas para tentar frear a queda. Bernd fez o mesmo. No entanto, continuaram a deslizar, lenta mas regularmente, até os tênis de Rebecca tocarem uma calha de ferro. Apesar de não parecer sólida, a estrutura aguentou, e ambos pararam. – Que grito foi aquele? – perguntou Bernd, aflito. – Uma mulher lá no quarto me viu. Mas não sei se deu para escutar o grito dela da rua. – Mas ela pode dar o alarme. – Não há nada que possamos fazer. Vamos em frente. Moveram-se de lado pela superfície inclinada. As casas eram antigas, e algumas das telhas estavam quebradas. Rebecca tentou não apoiar o peso na calha que seus pés tocavam. Eles foram avançando a uma velocidade tão lenta que chegava a dar agonia. Ela imaginou a mulher da janela falando com o marido: “Se não fizermos nada, seremos acusados de colaboração. Podemos dizer que estávamos ferrados no sono e não ouvimos nada, mas eles provavelmente vão nos prender mesmo assim. E, mesmo se chamarmos a polícia, eles ainda podem nos prender por suspeita. Quando as coisas dão errado, eles prendem todo mundo em volta. É melhor ficarmos quietos. Vou fechar as cortinas de novo.” Pessoas comuns evitavam qualquer contato com a polícia, mas talvez a mulher da janela não fosse comum. Se ela ou o marido fossem membros do Partido, se tivessem um bom emprego e gozassem de privilégios, teriam algum grau de imunidade e não seriam importunados pela polícia, e nessas circunstâncias sem dúvida alguma dariam o alarme e começariam a gritar. Entretanto, os segundos foram passando e Rebecca não ouviu nenhum barulho de alarme. Talvez ela e Bernd tivessem conseguido passar incólumes. Chegaram a um ângulo do telhado. Apoiando os pés nas duas águas, Bernd conseguiu rastejar para cima até alcançar a cumeeira com as mãos. Agora tinha mais apoio, embora corresse o risco de as pontas de seus dedos cobertos pelas luvas escuras serem vistas pela polícia na rua. Ele dobrou a quina e seguiu rastejando, a cada segundo mais perto da Bernauer Strasse e da liberdade.
Rebecca foi atrás. Imaginando se alguém podia vê-los, olhou por cima do ombro. Suas roupas escuras não se destacavam sobre as telhas cinzentas, mas eles não estavam invisíveis. Será que tinha alguém olhando? Ela podia ver os quintais dos fundos e o cemitério. A silhueta escura que vira ali um minuto antes estava agora correndo da capela em direção ao portão. Um medo pesado feito chumbo gelou seu estômago. Será que aquela pessoa os tinha visto e estava correndo para avisar à polícia? Por alguns segundos sentiu pânico, mas então percebeu que a silhueta era conhecida. – Walli? – indagou. Que droga seu irmão estava fazendo? Era óbvio que tinha seguido os dois. Mas para quê? E para onde estava correndo com tanta pressa? Ela não tinha como evitar se preocupar. Eles chegaram à parede dos fundos do prédio de apartamentos na Bernauer Strasse. As janelas estavam lacradas com tábuas. Bernd e Rebecca tinham falado em quebrar as tábuas para entrar e depois quebrar outra série de tábuas na frente para sair, mas acabaram concluindo que seria barulhento, demorado e difícil demais. O mais fácil, pensaram, seria passar por cima do prédio. A cumeeira do telhado em que estavam ficava no mesmo nível das calhas do prédio contíguo, mais alto, de modo que eles poderiam facilmente passar de um telhado para o outro. A partir de então, ficariam claramente visíveis para os guardas armados com submetralhadoras na rua lateral lá embaixo. Aquele era o seu momento mais vulnerável. Bernd rastejou telhado acima até a cumeeira, passou por cima desta, então pisou no telhado mais alto do prédio de apartamentos e começou a avançar em direção ao alto. Rebecca foi atrás. Estava ofegante agora. Havia machucado os joelhos, e tinha os ombros doloridos nos pontos em que Bernd havia pisado. Quando estava passando pela cumeeira do telhado mais baixo, olhou para a rua. A proximidade dos policiais a deixou alarmada. Estavam acendendo cigarros; se um deles erguesse os olhos, tudo estaria perdido. Tanto ela quanto Bernd seriam alvos fáceis para suas submetralhadoras. Mas só uns poucos passos os separavam da liberdade. Ela se preparou para rastejar até o outro telhado na sua frente, mas algo se moveu sob seu pé esquerdo. O tênis resvalou e ela caiu. Ainda estava a cavalo sobre a cumeeira, e o impacto a machucou entre as pernas. Ela soltou um grito abafado, inclinou-se de lado vertiginosamente por um instante de horror, então recuperou o equilíbrio. Infelizmente, a causa de seu tropeço, uma telha solta, escorregou pelo telhado, quicou na calha e caiu lá na rua, onde se espatifou com grande alarde. Os policiais ouviram o barulho e olharam para os cacos sobre a calçada. Rebecca congelou. Os policiais olharam em volta. A qualquer segundo se dariam conta de onde a telha devia
ter caído e olhariam para cima. Antes de o fazerem, contudo, um deles foi atingido por uma pedra. Um segundo depois, Rebecca ouviu a voz do irmão gritar: – Os policiais são todos uns escrotos!
Walli catou outra pedra e a jogou nos policiais. Dessa vez, errou. Provocar policiais da Alemanha Oriental era um ato burro e suicida, ele sabia. Corria o risco de ser preso, espancado e encarcerado. Mas tinha de fazê-lo. Podia ver que Rebecca e Bernd estavam muito expostos. Os policiais iriam vê-los a qualquer instante, e nunca hesitavam em atirar nos fugitivos. O alcance era curto, uns 15 metros. Ambos ficariam crivados de balas de submetralhadora em poucos segundos. A menos que algo pudesse distrair os policiais. Os dois eram mais velhos do que Walli. Ele tinha 16 anos, e aqueles rapazes pareciam ter uns 20. Estavam olhando em volta, com os cigarros que haviam acabado de acender pendurados na boca, sem conseguir entender por que uma telha tinha se espatifado e duas pedras sido lançadas. – Seus porcalhões! – berrou Walli. – Seus merdas! Filhos da puta! Eles então o identificaram, a uns 100 metros de distância, visível apesar da névoa. Assim que o distinguiram, começaram a avançar na sua direção. Ele recuou. Os policiais começaram a correr. Walli virou as costas e fugiu. No portão do cemitério, olhou para trás. Um dos rapazes tinha parado, sem dúvida ao perceber que não deviam ambos abandonar o posto no Muro para perseguir alguém que apenas lhes jogara pedras. Ainda não tinham parado para pensar por que alguém faria algo tão temerário. O segundo policial se ajoelhou e mirou com a arma. Walli entrou no cemitério.
Bernd amarrou a corda de varal em volta de uma chaminé de tijolos, retesou-a e deu um nó bem firme. Deitada na cumeeira do telhado, Rebecca olhava para baixo, ofegante. Podia ver um dos policiais correndo pela rua atrás de Walli, e o irmão correndo pelo cemitério. O segundo policial já estava voltando para seu posto, mas felizmente não parava de olhar para trás, conferindo a situação do colega. Rebecca não sabia se deveria ficar aliviada ou horrorizada com o fato de o irmão estar arriscando a vida para distrair a atenção da polícia pelos cruciais segundos seguintes.
Olhou para o outro lado, na direção do mundo livre. Na Bernauer Strasse, do outro lado da rua, um casal a observava e conversava animadamente. Segurando a corda, Bernd sentou-se e escorregou sobre o traseiro pela superfície oeste do telhado até a beirada. Então passou a corda duas vezes em volta do peito e debaixo dos braços, deixando uma sobra comprida, de uns 15 metros. Agora, sustentado pela corda amarrada à chaminé, podia se inclinar pela beirada do telhado. Tornou a ir até onde estava Rebecca e passou por cima da cumeeira. – Sente-se – instruiu. Amarrou a ponta livre da corda em volta dela e deu um nó. Segurou a corda com firmeza nas mãos enluvadas. Rebecca deu uma última olhada para Berlim Oriental. Viu Walli escalar com agilidade a cerca do lado mais afastado do cemitério. A silhueta de seu irmão atravessou uma via larga e desapareceu em uma rua lateral. O policial desistiu e deu meia-volta. Então o rapaz olhou para cima por acaso, em direção ao telhado do prédio de apartamentos, e seu queixo caiu de espanto. Rebecca não teve dúvidas quanto ao que ele tinha visto: ela e Bernd encarapitados no alto do telhado, bem destacados contra o céu. O policial gritou, apontou e começou a correr. Rebecca rolou para fora da cumeeira e escorregou devagar pela superfície inclinada do telhado até seus tênis tocarem a calha na beirada. Ouviu uma rajada de metralhadora. Bernd se levantou ao seu lado, preso pela corda amarrada à chaminé, e se preparou. Rebecca o sentiu sustentar seu peso. Agora, pensou. Ela rolou por cima da calha e caiu no vazio. A corda se retesou dolorosamente em volta de seu peito e acima dos seios. Ela ficou pendurada no ar por alguns instantes, então Bernd foi soltando a corda e ela começou a descer em pequenos trancos. Os dois haviam treinado aquilo na casa de seus pais. Bernd a fizera saltar da janela mais alta até o quintal dos fundos. Suas mãos doíam, dissera, mas, se estivesse com boas luvas, ele conseguiria. Mesmo assim, disse-lhe para fazer pausas breves sempre que pudesse apoiar o peso em um parapeito de janela para lhe dar alguns segundos de descanso. Ela ouviu gritos de incentivo, e calculou que já houvesse pessoas reunidas na Bernauer Strasse, do lado ocidental do Muro. Lá embaixo, pôde ver a calçada e o arame farpado que margeava a fachada do prédio. Será que já estava em Berlim Ocidental? A polícia de fronteira atirava em qualquer um do lado oriental, mas tinha rígidas instruções para não disparar no lado ocidental, pois os soviéticos não queriam nenhum incidente diplomático. No entanto, ela estava suspensa exatamente acima do arame farpado, nem em um país nem no outro.
Ouviu outra rajada de metralhadora. Onde estariam os policiais, e em quem estariam atirando? Imaginou que eles fossem tentar subir no telhado e atirar nela e em Bernd antes que fosse tarde demais. Se usassem o mesmo caminho dos fugitivos, não chegariam a tempo. Mas decerto poderiam ir mais depressa entrando no prédio e simplesmente subir correndo a escada. Ela estava quase lá. Seus pés tocaram o arame farpado. Tentou se afastar do prédio, mas não conseguiu livrar as pernas do arame por completo. Sentiu as farpas rasgarem sua calça e ferirem dolorosamente a pele. Então pessoas se juntaram à sua volta para ajudá-la, sustentaram seu peso, desembaraçaram-na do arame farpado, desamarraram a corda em volta de seu peito e a puseram no chão. Assim que sentiu os pés firmes, ela olhou para cima. Na beira do telhado, Bernd estava afrouxando a corda do peito. Ela deu um passo para trás de modo a poder ver melhor. Os policiais ainda não tinham chegado ao telhado. Bernd segurou firme a corda com as duas mãos e desceu do telhado de costas. Foi se abaixando devagar junto à parede, deixando a corda deslizar pelas mãos conforme descia. Era muito difícil, pois todo o seu peso estava sustentado pelas mãos na corda. Ele havia treinado em casa e descido escalando a parede dos fundos, à noite, quando ninguém podia vê-lo. Mas aquele prédio era mais alto. As pessoas na rua gritaram incentivos. Então um policial apareceu no telhado. Bernd desceu mais depressa, afrouxando a corda para poder ganhar velocidade. – Peguem um cobertor! – gritou alguém. Rebecca sabia que não havia tempo para isso. O policial mirou a submetralhadora em Bernd, mas hesitou. Não podia atirar na Alemanha Ocidental. Poderia acertar outras pessoas. Aquele era o tipo de incidente capaz de desencadear uma guerra. O rapaz se virou e olhou para a corda em volta da chaminé. Poderia desamarrá-la, mas Bernd chegaria ao chão antes disso. Será que o policial tinha uma faca? Aparentemente não. Foi então que ele teve uma inspiração. Encostou o cano da arma na corda esticada e disparou uma única rajada. Rebecca gritou. A corda se partiu e a ponta voou no ar acima da Bernauer Strasse. Bernd despencou feito uma pedra. As pessoas se afastaram. Bernd acertou a calçada com um baque assustador. Então ficou imóvel.
Três dias depois, Bernd abriu os olhos, viu Rebecca e disse: – Oi. – Ai, graças a Deus! – exclamou ela. Quase enlouquecera de tanta preocupação. Os médicos tinham lhe dito que ele recobraria a consciência, mas ela só conseguiria acreditar quando visse. Ele havia passado por várias cirurgias, e nos intervalos fora fortemente medicado. Aquela era a primeira vez que ela via uma expressão coerente em seu rosto. Tentando não chorar, inclinou-se por cima da cama de hospital e lhe deu um beijo na boca. – Você voltou. Que coisa boa! – O que houve? – perguntou ele. – Você caiu. Ele assentiu. – Do telhado. Eu me lembro. Mas... – O policial atirou na sua corda. Ele baixou os olhos para o próprio corpo. – Estou engessado? Ela vinha ansiando por vê-lo acordar, mas também estava apreensiva com aquele instante. – Da cintura para baixo – respondeu. – Eu... não consigo mexer as pernas. Não consigo senti-las. – Uma expressão de pânico se estampou em seu rosto. – Eles amputaram minhas pernas? – Não. – Rebecca respirou fundo. – Você quebrou quase todos os ossos das pernas, mas não consegue senti-las porque a sua medula foi parcialmente rompida. Ele passou um longo tempo pensando, então perguntou: – E vai sarar? – Segundo os médicos, os nervos podem se reconstituir, mas vai ser demorado. – Então... – Então talvez algum dia você recobre algumas das funções abaixo da cintura. Mas quando sair do hospital vai ser de cadeira de rodas. – Eles disseram por quanto tempo? – Eles disseram... – Ela teve de se esforçar para não chorar. – Você precisa se preparar para a possibilidade de isso ser permanente. Ele olhou para o outro lado. – Fiquei aleijado. – Mas nós agora somos livres! Você está em Berlim Ocidental. Nós escapamos. – Eu escapei para uma cadeira de rodas. – Não pense assim. – Que porcaria eu vou poder fazer? – Já pensei nisso. – Ela falou com voz firme, confiante, bem mais do que realmente se
sentia. – Você vai se casar comigo e voltar a lecionar. – Não é muito provável. – Já telefonei para Anselm Weber. Lembra que ele agora é diretor de uma escola em Hamburgo? Ofereceu trabalho para nós dois a partir de setembro. – Um professor de cadeira de rodas? – Que diferença faz? Você ainda vai ser capaz de explicar questões de física até para o aluno mais burro da turma. Não precisa de pernas para isso. – Você não quer se casar com um aleijado. – Não, eu quero me casar com você. E vou! O tom dele se tornou mais amargo: – Você não pode se casar com um homem sem função nenhuma abaixo da cintura. – Escute aqui – retrucou ela, arrebatada. – Três meses atrás eu não sabia o que era o amor. Acabei de encontrar você, e não vou perdê-lo. Nós fugimos, sobrevivemos, e vamos viver. Vamos nos casar, trabalhar em uma escola e nos amar. – Não sei. – Eu só quero uma coisa de você: que não perca as esperanças. Vamos enfrentar juntos as dificuldades, e vamos resolver juntos qualquer problema que surgir. Eu posso aguentar qualquer dificuldade desde que tenha você comigo. Me prometa, Bernd Held, que nunca vai desistir. Nunca. Houve uma pausa demorada. – Prometa – repetiu ela. Ele sorriu. – Você é uma leoa.
CAPÍTULO CATORZE
Dimka e Valentin levaram Nina e Anna à roda-gigante do Parque Gorki. Depois de Dimka ser convocado no meio da colônia de férias, Nina havia conhecido um engenheiro com quem saíra por vários meses, mas os dois tinham rompido e agora ela estava livre outra vez. Enquanto isso, Valentin e Anna tinham virado um casal; ele dormia no apartamento das moças quase todos os fins de semana. Além disso, Valentin tinha dito ao amigo algumas vezes que ir para a cama com uma mulher depois da outra era apenas uma fase pela qual os homens passavam quando jovens. Quem me dera, pensou Dimka. No primeiro fim de semana de tempo ameno do curto verão moscovita, Valentin sugeriu uma saída a quatro. Dimka concordou, animado. Nina era inteligente e tinha opiniões fortes; sabia desafiá-lo, e ele gostava disso. Mas, acima de tudo, ela era sexy. Com frequência ele recordava o entusiasmo com que ela o beijara. Queria muito repetir a dose. Lembrava-se de como seus mamilos tinham ficado durinhos por causa da água fria. Ficava se perguntando se ela também pensava naquele dia no lago. Seu problema era que ele não conseguia ter o mesmo comportamento alegremente predatório de Valentin em relação às mulheres. Seu amigo era capaz de dizer qualquer coisa para levar uma mulher para a cama. Dimka achava errado manipular ou intimidar os outros. Também acreditava que, quando alguém dizia “não”, era preciso aceitar, enquanto Valentin sempre partia do princípio de que “não” queria dizer “talvez não ainda”. O Parque Gorki era um oásis no deserto do sisudo comunismo, um lugar que os habitantes de Moscou podiam frequentar apenas para se divertir. Todos vestiam suas melhores roupas, compravam sorvetes e balas, paqueravam desconhecidos e se beijavam no meio dos arbustos. Anna fingiu ter medo da roda-gigante e Valentin entrou na brincadeira, passou o braço em volta dela e lhe disse que o brinquedo era totalmente seguro. Nina parecia à vontade e despreocupada, e, embora Dimka preferisse essa atitude ao medo fingido, ela não lhe dava qualquer chance de intimidade. Nina estava bonita, com um vestido de algodão abotoado na frente listrado de laranja e verde. A vista de trás era particularmente atraente, pensou ele quando desceram da rodagigante. Para aquele programa, ele conseguira um jeans americano e uma camisa azul quadriculada. Em troca, passara adiante dois ingressos para assistir ao balé Romeu e Julieta no Bolshoi que Kruschev não quis. – O que você tem feito desde que nos vimos pela última vez? – perguntou-lhe Nina enquanto os dois passeavam pelo parque, tomando um licor de laranja morno comprado em uma barraquinha. – Trabalhado.
– Só? – Em geral chego ao escritório uma hora antes de Kruschev, para ter certeza de que está tudo pronto: os documentos de que vai precisar, os jornais estrangeiros, quaisquer pastas que ele possa querer. Ele muitas vezes trabalha até tarde da noite e eu raramente vou para casa antes. – Dimka desejou poder fazer seu emprego soar tão empolgante quanto de fato era. – Não tenho muito tempo para outra coisa. – Ele era igualzinho na universidade – disse Valentin. – Só trabalho, trabalho, trabalho... Felizmente, Nina não parecia considerar a vida de Dimka maçante. – Você encontra mesmo o camarada Kruschev todos os dias? – Quase todos. – E onde você mora? – Na Casa do Governo. Era um prédio de apartamentos para a elite não muito longe do Kremlin. – Que ótimo. – Com minha mãe – acrescentou ele. – Se fosse para ter um apartamento naquele prédio, eu também moraria com a minha mãe. – Minha irmã gêmea também mora conosco, mas agora ela está em Cuba... é jornalista da TASS. – Eu bem que gostaria de ir a Cuba – falou Nina, sonhadora. – É um país pobre. – Isso não me incomodaria em um clima em que não existe inverno. Imagine, dançar na praia em pleno mês de janeiro! Dimka assentiu. Cuba o empolgava por outros motivos. A revolução de Fidel Castro mostrava que a rígida ortodoxia soviética não era a única forma possível de comunismo. Fidel tinha ideias novas, diferentes. – Tomara que Fidel sobreviva – comentou. – E por que não sobreviveria? – Os americanos já invadiram Cuba uma vez. A Baía dos Porcos foi um fiasco, mas eles vão tentar de novo, e com um exército maior... provavelmente em 1964, quando Kennedy for candidato à reeleição. – Que horror! Não há nada que se possa fazer? – Fidel está tentando fazer as pazes com Kennedy. – E vai conseguir? – O Pentágono é contra, e os membros conservadores do Congresso estão reclamando bastante, de modo que a coisa não está andando muito. – Nós precisamos apoiar a revolução cubana! – Concordo... mas os nossos conservadores também não gostam de Fidel. Eles não têm certeza de que ele seja um comunista de verdade. – O que vai acontecer, então?
– Depende dos americanos. Talvez eles deixem Cuba em paz. Mas não acho que sejam tão inteligentes assim. Meu palpite é que vão continuar importunando Fidel até ele achar que o único país ao qual pode pedir ajuda é a União Soviética. Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar nos pedindo proteção. – E o que vamos poder fazer? – Boa pergunta. Valentin os interrompeu: – Estou com fome. Vocês têm comida em casa, garotas? – Claro – respondeu Nina. – Comprei um joelho de porco para fazer um ensopado. – Então o que estamos esperando? Dimka e eu podemos comprar cerveja no caminho. Foram de metrô. As moças moravam em um apartamento de um prédio controlado pelo sindicato dos metalúrgicos, para o qual trabalhavam. Era pequeno: um quarto com duas camas de solteiro, uma sala de estar com sofá em frente a uma TV , uma cozinha com uma mesa de jantar pequena e um banheiro. Dimka imaginou que a responsável pelas almofadas de rendinha do sofá e pelas flores de plástico no vaso em cima da TV fosse Anna, e que Nina houvesse comprado as cortinas listradas e os cartazes na parede com paisagens montanhosas. Estava preocupado com o fato de só haver um quarto. Se Nina quisesse ir para a cama com ele, será que dois casais poderiam transar no mesmo cômodo? Coisas desse tipo aconteciam quando estava na universidade e morava em um alojamento abarrotado. Mesmo assim, não gostava da ideia. Tirando todo o resto, não queria que Valentin soubesse quanto ele era inexperiente. Perguntou-se onde Nina dormia quando Valentin passava a noite ali. Então reparou em uma pequena pilha de cobertores no chão da sala, e deduziu que ela devia dormir no sofá. Nina pôs a carne dentro de uma panela grande, Anna picou um rabanete, Valentin pegou talheres e pratos, e Dimka serviu a cerveja. Todos, exceto Dimka, pareciam saber o que iria acontecer em seguida. Apesar de um pouco nervoso, ele foi em frente. Nina preparou uma bandeja de canapés: cogumelos em conserva, blinis, salsichão e queijo. Enquanto o ensopado cozinhava, eles foram para a sala. Nina sentou-se no sofá e bateu de leve no lugar ao seu lado, chamando Dimka para junto dela. Valentin se acomodou na poltrona e Anna sentou-se no chão a seus pés. Ficaram ouvindo música no rádio e tomando cerveja. Nina tinha posto algumas ervas na panela, e o cheiro da cozinha deixou Dimka com fome. Falaram sobre seus pais. Os de Nina eram divorciados, os de Valentin separados, e os de Anna se odiavam. – Minha mãe não gostava do meu pai – falou Dimka. – Nem eu. Ninguém gosta de um agente da KGB. – Eu me casei uma vez... nunca mais – disse Nina. – Vocês conhecem alguém que tenha um casamento feliz? – Sim – respondeu Dimka. – Meu tio Volodya. É bem verdade que tia Zoya é deslumbrante. Ela é física, mas parece uma atriz de cinema. Quando eu era pequeno, a chamava de Tia da
Revista, porque ela era igualzinha àquelas mulheres de beleza impossível das fotografias das revistas. Valentin acariciou os cabelos de Anna, e ela recostou a cabeça em sua coxa de um jeito que Dimka achou sensual. Queria tocar em Nina, e ela certamente não acharia ruim; caso contrário, por que o teria chamado para ir ao seu apartamento? Entretanto, sentia-se constrangido e pouco à vontade. Desejou que a moça fizesse alguma coisa: afinal, ela é que era experiente. Mas Nina parecia satisfeita em ouvir música e bebericar sua cerveja, com um leve sorriso no rosto. O jantar enfim ficou pronto. O ensopado, que comeram acompanhado de pão preto, estava uma delícia. Nina cozinhava bem. Depois de terminarem e tirarem a mesa, Valentin e Anna foram para o quarto e fecharam a porta. Dimka foi ao banheiro. O rosto no espelho acima da pia não era bonito. Seu melhor traço eram os grandes olhos azuis. Os cabelos castanho-escuros estavam curtos, ao estilo militar aprovado para jovens apparatchiks. Ele parecia um rapaz sério cujas preocupações estavam muito acima do sexo. Verificou a camisinha no bolso. Essas coisas eram raras, e ele tivera muito trabalho para arrumar algumas. No entanto, não concordava com a opinião de Valentin de que a gravidez era problema da mulher. Tinha certeza de que não conseguiria sentir prazer no sexo caso tivesse a sensação de estar forçando a garota a passar por um parto ou por um aborto. Voltou para a sala. Para sua surpresa, Nina estava de casaco. – Pensei em acompanhar você até a estação de metrô – disse ela. Dimka ficou pasmo. – Por quê? – Acho que você não conhece o bairro... não quero que se perca. – Não, por que você quer que eu vá embora? – O que mais você iria fazer? – Queria ficar aqui e beijar você – respondeu ele. Ela riu. – O seu entusiasmo compensa a falta de sofisticação. Ela tirou o casaco e se sentou. Dimka sentou-se ao seu lado e a beijou com hesitação. Nina retribuiu seu beijo com um entusiasmo reconfortante. Cada vez mais excitado, ele percebeu que ela não se importava com a sua inexperiência. Em pouco tempo, já estava tentando abrir os botões de seu vestido. Seus seios eram maravilhosamente fartos. Estavam comprimidos dentro de um sutiã intimidador, mas ela o tirou e lhe ofereceu os seios para ele beijar. Depois disso, foi tudo bem rápido. Quando o grande momento chegou, ela se deitou no sofá com a cabeça sobre o braço e um
dos pés no chão, posição que adotou com tanta naturalidade que Dimka pensou: ela já deve ter feito isso antes. Apressado, ele pegou a camisinha e a abriu com gestos atabalhoados, mas ela disse: – Não precisa. Ele ficou espantado. – Como assim? – Eu não posso ter filhos. Os médicos disseram. Foi por isso que meu marido se divorciou de mim. Ele largou a camisinha no chão e se deitou por cima dela. – Devagar – disse ela, guiando-o para dentro de si. Pronto, pensou Dimka: finalmente não sou mais virgem.
A lancha era do tipo conhecido antigamente como rum-runner: comprida e estreita, extremamente veloz e muito desconfortável para os passageiros. Atravessou os Estreitos da Flórida a 80 nós, batendo em cada onda com o mesmo impacto de um carro que derruba uma cerca de madeira. Os seis homens a bordo estavam presos por cintos de segurança, única forma de garantir relativa segurança em uma embarcação aberta àquela velocidade. No pequeno compartimento de carga, levavam submetralhadoras M3, pistolas e bombas incendiárias. Estavam a caminho de Cuba. Na verdade, George Jakes não deveria estar com eles. Mareado, ele olhou para a água iluminada pelo luar. Quatro dos passageiros eram cubanos exilados em Miami, que George conhecia apenas pelo primeiro nome. Eles odiavam o comunismo, Fidel Castro e todo mundo que não concordasse com eles. O sexto homem era Tim Tedder. Tudo havia começado quando Tedder entrara em sua sala no Departamento de Justiça. Parecera-lhe vagamente conhecido, e George o identificara como agente da CIA, apesar de ele estar oficialmente “aposentado” e trabalhar como consultor de segurança independente. George estava sozinho na sala. – Posso ajudar? – perguntou, educado. – Vim para a reunião da Mangusto. George já tinha ouvido falar na Operação Mangusto, projeto no qual estava envolvido o pouco confiável Dennis Wilson, mas não conhecia todos os detalhes. – Pode entrar – falou, acenando para uma cadeira. Tedder então tinha entrado com uma pasta de papelão debaixo do braço. Era uns dez anos mais velho do que George, mas parecia ter se vestido na década de 1940: usava um terno jaquetão e os cabelos ondulados repartidos de lado e empapados de brilhantina. – Dennis vai voltar a qualquer momento – disse George.
– Obrigado. – Como estão indo as coisas? Na Mangusto? Tedder fez uma cara ressabiada e retrucou: – Na reunião eu digo. – Não vou participar. – George olhou para o relógio de pulso. Estava desonestamente dando a entender que fora convidado, o que não era verdade, mas sua curiosidade agora fora atiçada. – Tenho outra reunião na Casa Branca. – Que pena. George recordou um fragmento de informação. – Pelo plano original, vocês agora deveriam estar na fase dois, o desenvolvimento. O semblante de Tedder se desanuviou quando ele deduziu que George estava por dentro. – Aqui está o relatório – falou, abrindo a pasta de papelão. George fingia saber mais do que de fato sabia. Mangusto era um projeto destinado a ajudar cubanos anticomunistas a fazerem uma contrarrevolução. O plano tinha um cronograma cujo clímax seria a derrubada de Fidel Castro em outubro daquele ano, logo antes das eleições legislativas no meio do mandato de Kennedy. Equipes infiltradas da CIA estavam encarregadas da organização política e da propaganda anti-Fidel. Tedder entregou duas folhas de papel a George. Fingindo menos interesse do que de fato sentia, este falou: – Tudo dentro do cronograma? Tedder se esquivou da pergunta. – Está na hora de aumentar a pressão – disse ele. – Fazer circular discretamente panfletos que zombam de Fidel não está nos ajudando a alcançar nossos objetivos. – Como podemos aumentar a pressão? – Está tudo aí – respondeu Tedder, apontando para o papel. George olhou para baixo. O que leu foi pior do que esperava. A CIA propunha sabotar pontes, refinarias de petróleo, usinas de energia, usinas de açúcar e o transporte marítimo. Foi nessa hora que Dennis Wilson entrou. George reparou que estava com o colarinho da camisa aberto, a gravata frouxa e as mangas arregaçadas, igualzinho a Bobby, embora seus cabelos já ralos nunca fossem ser páreo para a basta cabeleira do secretário. Quando Wilson viu Tedder conversando com George, primeiro pareceu espantado, depois tenso. – Se vocês explodirem uma refinaria de petróleo e morrer gente, todo mundo aqui em Washington que tiver aprovado o projeto vai ser culpado de assassinato. Irado, Dennis Wilson perguntou a Tedder: – O que você contou a ele? – Pensei que ele tivesse autorização para saber! – E tenho – retrucou George. – Meu nível de autorização é o mesmo de Dennis. – Ele se virou para Wilson. – Então por que você tomou tanto cuidado para esconder isso de mim? – Porque eu sabia que você criaria problemas.
– E tinha razão. Nós não estamos em guerra contra Cuba. Matar cubanos é crime. – Estamos em guerra, sim – insistiu Tedder. – Ah, é? Então, se Fidel mandasse agentes aqui para Washington e eles bombardeassem uma fábrica e matassem a sua mulher, não seria crime? – Deixe de ser ridículo. – Tirando o fato de ser assassinato, será que você não consegue imaginar o escândalo se esse plano vazar? Seria um incidente internacional! Imagine Kruschev na ONU pedindo ao nosso presidente que pare de financiar o terrorismo internacional. Pense nas matérias do The New York Times. Bobby pode ter que se demitir. E a campanha de reeleição do presidente? Por acaso ninguém pensou no lado político disso tudo? – É claro que pensamos. Por isso é tudo ultrassecreto. – E está dando certo? – George virou uma página. – Estou mesmo lendo isto? Estamos tentando assassinar Fidel Castro com charutos envenenados? – Você não faz parte da equipe desse projeto – disse Wilson. – Então esqueça o que leu e pronto, certo? – Certo o caramba. Vou direto falar com Bobby sobre isso. Wilson riu. – Seu babaca. Será que você não entendeu? Bobby é o chefe dessa operação! George ficou perplexo. Mesmo assim, foi falar com Bobby, que lhe disse calmamente: – Vá até Miami e dê uma olhada na operação, George. Peça para Tedder lhe mostrar as coisas. Quando voltar, me diga o que acha. Assim, George foi visitar o grande e novo campo de treinamento da CIA na Flórida, onde exilados cubanos eram preparados para missões de infiltração. Tedder então falou: – Talvez você devesse participar de uma missão. Para ver com os próprios olhos. Era um desafio, e Tedder não imaginava que George fosse aceitar. Mas ele sentia que, se recusasse, estaria se colocando em posição de fraqueza. No momento, a vantagem era sua: ele era contra a Operação Mangusto por motivos morais e políticos. Caso se recusasse a participar de uma ação, seria considerado um medroso. E talvez parte dele não conseguisse resistir ao desafio de provar a própria coragem. Portanto, como um bobo, respondeu: – Tudo bem. Você vai também? A resposta surpreendeu Tedder, e ficou claro para George que ele desejou poder retirar o convite. Mas agora o agente também tinha sido desafiado. Era o que Greg Peshkov chamaria de concurso para ver quem mija mais longe. E Tedder também se sentira incapaz de recuar, embora tenha acabado por dizer: – É claro que não podemos contar a Bobby que você vai. Ali estavam eles, portanto. Era uma pena o presidente Kennedy gostar tanto dos romances de espionagem do autor britânico Ian Fleming, refletiu George. Kennedy parecia acreditar que, como nos livros, James Bond também podia salvar o mundo real. Bond tinha “autorização
para matar”. Que bobagem. Ninguém tinha autorização para matar. Seu alvo era uma cidadezinha chamada La Isabela, situada em uma estreita península que despontava feito um dedo da costa leste de Cuba. O lugar era um porto e não tinha qualquer outra atividade além do comércio. Seu objetivo era danificar a estrutura portuária. Eles haviam calculado o tempo para chegar quando o dia raiasse. O céu do leste já estava se acinzentando quando o capitão Sanchez diminuiu a potência do motor, transformando o ronco em um débil gargarejo. Sanchez conhecia bem aquele trecho de costa: antes da revolução, seu pai tinha sido dono de uma fazenda de cana ali perto. O contorno de uma cidade começou a surgir no horizonte ainda escuro, e ele desligou o motor e soltou um par de remos. A maré os levou naturalmente na direção da cidade; os remos eram mais para manter o curso. Sanchez tinha avaliado de modo perfeito sua aproximação. Uma fileira de píeres de concreto apareceu e, além deles, George pôde distinguir mal e mal grandes armazéns com telhados pontudos. Não havia nenhum navio grande no porto; mais adiante na costa, alguns pequenos barcos de pesca estavam ancorados. Tirando as ondas baixas que sussurravam na praia, tudo era silêncio. A lancha bateu em um dos píeres sem fazer barulho. O compartimento de carga foi aberto e os homens se armaram. Tedder estendeu uma pistola para George, mas este fez que não com a cabeça. – Pegue – disse Tedder. – Vai ser perigoso. George sabia o que o outro estava pretendendo: Tedder queria que ele tivesse sangue nas mãos para não poder mais criticar a Operação Mangusto. Mas não era tão fácil assim manipulá-lo. – Não, obrigado. Sou apenas um observador. – O chefe desta missão sou eu, e estou mandando. – E eu estou mandando você tomar no cu. Tedder desistiu. Sanchez amarrou a lancha e todos desembarcaram. Ninguém disse nada. Sanchez apontou para o armazém mais próximo, que também parecia ser o maior. Todos correram naquela direção. George foi por último, fechando o grupo. Não havia mais ninguém à vista. George pôde ver uma fileira de casas que não passavam de pouco mais de barracos de madeira. Um jumento preso pastava a grama esparsa no acostamento da estrada de terra. O único veículo por perto era uma picape enferrujada modelo década de 1940. Um lugar muito pobre, percebeu ele. Estava claro que ali antigamente funcionava um porto movimentado. Imaginou que este houvesse sido arruinado pelo presidente americano Eisenhower, que, em 1960, impusera um embargo ao comércio entre os Estados Unidos e Cuba. Em algum lugar, um cão começou a latir. O armazém tinha laterais de madeira e telhado de ferro corrugado, mas não havia janelas. Sanchez encontrou uma pequena porta e a derrubou com um chute. Eles entraram correndo. O
espaço vazio continha apenas restos de embalagens: caixotes quebrados, caixas de papelão, pedaços curtos de corda e barbante, sacos descartados e redes rasgadas. – Perfeito – falou Sanchez. Os quatro cubanos atiraram bombas incendiárias pelo chão. Segundos depois, os artefatos explodiram. Os restos descartados pegaram fogo na hora. As paredes de madeira se incendiariam em poucos instantes. Todos correram para fora. – Ei! O que está acontecendo? – perguntou uma voz em espanhol. George se virou e viu um cubano de cabelos brancos vestido com um tipo de uniforme. Era velho demais para ser policial ou soldado, então George concluiu que era o vigia. Estava calçando sandálias. No entanto, tinha uma arma no cinto e já tateava tentando soltá-la do coldre. Antes de ele conseguir sacar sua arma, Sanchez lhe deu um tiro. O sangue brotou no peito da camisa branca do uniforme e o homem caiu para trás. – Vamos embora! – falou Sanchez, e os cinco homens correram em direção à lancha. George se ajoelhou junto ao senhor cubano cujos olhos encaravam – embora não vissem nada – o céu cada vez mais claro. Atrás dele, Tedder gritou: – George! Vamos embora! Por alguns instantes, o sangue saiu aos borbotões do ferimento no peito do vigia, mas depois virou um filete. George tentou encontrar sua pulsação, mas não conseguiu. Pelo menos ele morreu rápido. O incêndio no armazém estava se espalhando depressa, e George já podia sentir o calor. – George! Vamos deixar você para trás! – insistiu Tedder. O motor da lancha foi ligado e rugiu. George fechou os olhos do morto e se levantou. Permaneceu alguns instantes em pé, com a cabeça baixa. Então saiu correndo em direção à lancha. Assim que ele embarcou, a lancha se afastou do cais e partiu baía afora. George prendeu o cinto de segurança. – Que porra você estava fazendo, afinal? – berrou Tedder em seu ouvido. – Nós matamos um inocente. Achei que ele merecesse um instante de respeito. – Ele trabalhava para os comunistas! – Ele era o vigia noturno. Provavelmente não sabia nem o que é comunismo. – Você é mesmo um banana. George olhou para trás. O armazém agora era uma gigantesca fogueira. Pessoas o rodeavam, decerto tentando apagar as chamas. Ele tornou a encarar o mar à sua frente e não se virou mais. Quando por fim chegaram a Miami e pisaram em terra firme outra vez, falou para Tedder: – Quando estávamos no mar, você me chamou de banana. – Sabia que aquilo era uma burrice quase tão grande quanto participar da missão, mas era orgulhoso demais para deixar
passar. – Agora estamos em terra firme, sem problemas de segurança. Por que não repete o que disse? Tedder o encarou. Era mais alto do que George, mas não tão corpulento. Devia ter algum tipo de treinamento em combate corpo a corpo, e George pôde ver que estava avaliando as próprias chances, enquanto os cubanos observavam com cara de pouco interesse. Os olhos de Tedder relancearam para as orelhas de George, deformadas pela luta livre, e então tornaram a encará-lo. – Acho melhor esquecermos isso – disse ele. – É, foi o que pensei. No avião de volta a Washington, ele redigiu um relatório curto para Bobby dizendo que, na sua opinião, a Operação Mangusto era ineficaz, uma vez que não havia indício algum de que o povo de Cuba (ao contrário dos exilados) quisesse derrubar Fidel. Ela era também uma ameaça ao prestígio global dos Estados Unidos, pois causaria hostilidade contra os americanos caso um dia viesse a público. Ao entregar o relatório a Bobby, falou, sucinto: – A Mangusto é inútil e perigosa. – Eu sei – disse Bobby. – Mas nós precisamos fazer alguma coisa.
Dimka agora via todas as mulheres sob um novo viés. Ele e Valentin passavam quase todos os fins de semana com Nina e Anna no apartamento das duas, e os casais se revezavam para dormir na cama ou no chão da sala. Em uma só noite, ele e Nina transavam duas ou até três vezes. Ele agora conhecia, com mais detalhes do que jamais sonhara, o aspecto, o cheiro e o gosto de um corpo de mulher. Consequentemente, olhava para todas as outras de um jeito novo e mais conhecedor. Podia imaginá-las nuas, desenhar a curva de seus seios, visualizar os pelos de seu corpo, imaginar a expressão em seus rostos durante o prazer. De certa forma, conhecendo uma mulher, conhecia todas. Sentiu-se um pouco desleal a Nina quando admirou Natalya Smotrov na praia, em Pitsunda, vestida com um maiô amarelo-canário, os cabelos molhados e os pés sujos de areia. Seu corpo esbelto não era tão curvilíneo quanto o de Nina, mas nem por isso era menos delicioso. Talvez aquele seu interesse fosse perdoável: já fazia duas semanas que ele estava ali com Kruschev no litoral do Mar Negro, levando uma vida de monge. De todo modo, não chegava a considerar seriamente a tentação, pois Natalya usava aliança de casada. Era meio-dia e, enquanto ele nadava, ela estava lendo um relatório datilografado. Em seguida pôs um vestido por cima do maiô ao mesmo tempo que ele vestia seu short feito em casa, e então subiram juntos caminhando da praia até o lugar que chamavam de Alojamento. O prédio era novo e feio, com quartos para visitantes de status relativamente baixo como eles próprios. Encontraram os outros assessores no refeitório vazio, que recendia a carne de
porco cozida e repolho. Era uma reunião de posicionamento em preparação para o Politburo da semana seguinte. O objetivo, como sempre, era identificar questões controversas e avaliar o apoio a um lado ou outro. Dessa forma, um assessor podia salvar o chefe do constrangimento de defender uma proposta que seria subsequentemente rejeitada. Dimka partiu logo para o ataque: – Por que o ministro da Defesa está demorando tanto a mandar armas para nossos camaradas em Cuba? – indagou. – A ilha é o único país revolucionário no continente americano. Ela é uma prova de que o marxismo pode ser aplicado no mundo inteiro, não só no Leste. O apreço de Dimka pela revolução cubana era mais do que ideológico. Ele ficava empolgado com os heróis barbados, seus uniformes de combate e seus charutos, tão diferentes dos sisudos líderes soviéticos e seus indefectíveis ternos cinza. O comunismo supostamente deveria ser uma feliz cruzada por um mundo melhor, mas às vezes a União Sovética mais parecia um mosteiro medieval no qual todos houvessem feito votos de pobreza e obediência. Yevgeny Filipov, assessor do ministro da Defesa, se ofendeu. – Fidel Castro não é um marxista de verdade – afirmou. – Ele ignora a linha correta ditada pelo Partido Socialista Popular de Cuba e adota um comportamento revisionista próprio. – O PSP era o partido pró-Moscou. Na opinião de Dimka, o comunismo andava fortemente precisado de uma revisão, mas ele não disse isso. – A revolução cubana é um imenso golpe para o imperialismo capitalista. Nós deveríamos apoiá-la nem que fosse pelo fato de os irmãos Kennedy odiarem tanto Fidel. – Será que odeiam mesmo? – falou Filipov. – Não tenho tanta certeza. A invasão da Baía dos Porcos foi há um ano. O que os americanos fizeram desde então? – Rejeitaram as tentativas de paz de Fidel. – É verdade: os conservadores do Congresso não deixariam Kennedy fazer um pacto com Fidel nem se ele quisesse. Mas isso não significa que ele vai entrar em guerra. Dimka correu os olhos pelos assessores reunidos no recinto, todos de camisas de manga curta e sandálias. Discretamente calados, observavam ele e Filipov até conseguirem saber quem iria vencer aquele combate de gladiadores. – Nós temos de garantir que a revolução cubana não seja derrubada – prosseguiu Dimka. – O camarada Kruschev acredita que vai haver outra invasão americana, dessa vez mais bem organizada e com mais financiamento. – Mas onde estão as provas? Dimka não teve como responder. Havia sido agressivo e dado o melhor de si, mas a sua posição era fraca. – Não temos provas nem de uma coisa, nem de outra – admitiu ele. – Precisamos discutir com base em possibilidades.
– Ou poderíamos esperar a situação ficar mais clara antes de armar Fidel. Em volta da mesa, várias pessoas concordaram com meneios de cabeça. Filipov tinha marcado um ponto importante contra Dimka. Foi nessa hora que Natalya falou: – Na verdade, temos algumas provas, sim. – Ela estendeu para Dimka as páginas datilografadas que estava lendo na praia. Ele passou os olhos pelo documento. Era um relatório do chefe da KGB nos Estados Unidos, intitulado “Operação Mangusto”. Enquanto ele lia rapidamente, Natalya prosseguiu: – Ao contrário do que argumenta o camarada Filipov, do Ministério da Defesa, a KGB tem certeza de que os americanos não desistiram de Cuba. Filipov ficou uma fera: – Por que esse documento não foi distribuído para todos nós? – Ele acabou de chegar de Washington – respondeu Natalya, calma. – Tenho certeza de que você vai receber uma cópia hoje à tarde. Natalya sempre parecia conseguir informações importantes um pouco antes de todo mundo, pensou Dimka. Era uma grande habilidade para um assessor. Ela com certeza devia ter grande valor para seu chefe Gromyko, ministro das Relações Exteriores. Certamente era por isso que tinha um cargo tão poderoso. Ficou pasmo com o que estava lendo. Aquilo significava que, graças a Natalya, ele iria vencer o debate daquele dia, mas era péssima notícia para a revolução cubana. – Isto aqui é ainda pior do que o camarada Kruschev temia! – exclamou. – A CIA tem equipes de sabotagem em Cuba prontas para destruir usinas de açúcar e de energia. É uma guerrilha! E eles estão tramando o assassinato de Fidel Castro! – Essas informações são confiáveis? – perguntou Filipov, desesperado. Dimka o encarou. – Qual é a sua opinião sobre a KGB, camarada? Filipov calou a boca. Dimka se levantou. – Sinto muito ter de encerrar prematuramente nossa reunião, mas acho que o primeirosecretário precisa ver este documento agora mesmo. – Ele saiu do prédio. Seguiu um caminho pelo meio da floresta de pinheiros até a casa de estuque branco de Kruschev. O interior estava decorado de maneira ousada, com cortinas brancas e móveis de madeira clara, como descorada pelo sol e pelo mar. Perguntou-se quem teria escolhido um estilo tão radicalmente contemporâneo; com certeza não o camponês Kruschev: se o premiê reparasse em decoração, decerto teria preferido estofados de veludo e tapetes com estampas florais. Dimka encontrou o líder na varanda do andar de cima, com vista para a baía. Kruschev estava segurando um potente binóculo da Komz.
Dimka não estava nervoso; sabia que Kruschev havia desenvolvido simpatia por ele. Seu chefe gostava do modo como ele resistia aos ataques dos outros assessores. – Pensei que o senhor gostaria de ver este relatório sem demora – falou. – A Operação Mangusto... – Acabei de ler – interrompeu Kruschev. Ele passou o binóculo para Dimka. – Olhe ali – falou, apontando para o outro lado do mar em direção à Turquia. O rapaz levou o binóculo aos olhos. – Mísseis nucleares americanos – disse Kruschev. – Apontados para a minha dacha! Dimka não conseguiu ver míssil algum. Não conseguiu sequer ver a Turquia, que ficava a quase 250 quilômetros naquela direção. Sabia, porém, que aquele gesto teatral típico de Kruschev estava certo na essência: os Estados Unidos haviam instalado na Turquia mísseis Júpiter, antiquados, mas certamente não obsoletos. Ele sabia isso graças ao seu tio Volodya, que trabalhava na Inteligência do Exército Vermelho. Não soube muito bem como agir. Será que deveria fingir estar vendo os mísseis pelo binóculo? Mas Kruschev com certeza sabia que isso era impossível. O premiê resolveu o problema arrancando o binóculo da sua mão. – E sabe o que eu vou fazer? – indagou ele. – Por favor, me diga. – Vou fazer Kennedy entender que sensação isso dá. Vou instalar mísseis nucleares em Cuba... apontados para a dacha dele! Dimka ficou sem palavras; por essa ele não esperava. E não conseguia pensar que fosse uma boa ideia. Concordava com o chefe que era preciso mais ajuda militar a Cuba e vinha enfrentando o Ministério da Defesa em relação a isso, mas agora Kruschev estava exagerando. – Mísseis nucleares? – repetiu, tentando ganhar tempo para pensar. – Exatamente! – Kruschev apontou para o relatório da KGB sobre a Operação Mangusto que Dimka ainda segurava. – E isso aí vai convencer o Politburo a me apoiar. Charutos envenenados. Essa é boa! – Nossa linha oficial até agora foi não usar armas nucleares em Cuba – disse Dimka no tom de quem está citando uma informação incidental, não defendendo um ponto de vista. – Nós demos essa garantia aos americanos várias vezes, e em público. Kruschev sorriu com um deleite travesso. – Nesse caso, Kennedy vai ficar ainda mais surpreso! Aquele seu comportamento deixava Dimka assustado. O primeiro-secretário não era bobo, mas tinha alma de jogador. Se aquela estratégia desse errado, poderia conduzir a uma humilhação diplomática que talvez lhe custasse a posição de líder e que, por conseguinte, poderia pôr fim à carreira do próprio Dimka. Pior ainda: aquilo poderia provocar justamente a invasão americana a Cuba que pretendia evitar – e sua amada irmã estava em Cuba. Havia até uma chance de aquilo provocar a guerra nuclear que poria fim ao capitalismo, ao comunismo e, muito possivelmente, à humanidade.
Por outro lado, Dimka não conseguiu conter uma certa animação. Que golpe tremendo seria aquilo contra os ricos e arrogantes irmãos Kennedy, contra a truculência mundial dos Estados Unidos e contra todo o bloco capitalista-imperialista! Se a estratégia desse certo, que triunfo para a URSS e para Kruschev! O que ele deveria fazer? Começou a pensar de forma prática e se esforçou para bolar maneiras de reduzir os riscos apocalípticos daquele plano. – Nós poderíamos começar assinando um tratado de paz com Cuba – falou. – Seria difícil para os americanos reclamarem sem admitir que estão planejando atacar um país pobre do Terceiro Mundo. – Kruschev não pareceu entusiasmado, mas não disse nada, então ele prosseguiu: – Depois poderíamos aumentar o fornecimento de armas convencionais. Aí também seria difícil Kennedy protestar: por que um país não poderia comprar armas para o seu exército? Por fim, poderíamos mandar os mísseis... – Não – disse Kruschev abruptamente. Ele nunca apreciava medidas graduais, pensou Dimka. – Não é isso que vamos fazer. Vamos mandar os mísseis para lá em segredo. Vamos colocá-los em caixas com os dizeres “encanamento de esgoto”, ou qualquer outra coisa. Nem mesmo os comandantes dos navios saberão o que elas contêm. Vamos mandar nossos artilheiros para Cuba a fim de montar os lança-mísseis. Os americanos não terão a menor ideia do que estaremos fazendo. As palavras causaram certa náusea em Dimka, tanto de medo quanto de empolgação. Mesmo na União Soviética, seria extraordinariamente difícil manter em segredo um projeto grande como aquele. Milhares de homens teriam de participar do encaixotamento das armas, de seu envio por trem até os portos e, por fim, de sua abertura e montagem em Cuba. Seria possível fazer todos eles ficarem calados? Apesar das reservas, não disse nada. – E então, quando as armas estiverem prontas para serem lançadas, faremos um anúncio – continuou Kruschev. – Será um fato consumado, e os americanos não poderão fazer nada a respeito. Era exatamente o tipo de gesto grandioso e dramático que Kruschev adorava, e Dimka percebeu que jamais conseguiria demovê-lo da ideia. – Fico pensando como o presidente Kennedy vai reagir a um anúncio desses – comentou, cauteloso. Kruschev deu um muxoxo de desdém. – Kennedy é um garoto... inexperiente, temeroso, fraco. – Claro – concordou Dimka, embora temesse que talvez o primeiro-secretário estivesse subestimando o jovem presidente. – Mas os americanos vão ter eleições de meio de mandato no dia 6 de novembro. Se revelarmos a existência dos mísseis durante a campanha, Kennedy vai sofrer grande pressão para tomar alguma atitude drástica de modo a evitar uma humilhação nas urnas. – Então é preciso guardar segredo até 6 de novembro.
– E quem vai fazer isso? – indagou Dimka. – Você. Vou colocá-lo à frente desse projeto. Você fará a ponte com o Ministério da Defesa, que terá de executar o plano. Caberá a você garantir que eles não deixem o segredo vazar antes de estarmos prontos. Chocado, o rapaz balbuciou: – Por que eu? – Você detesta aquele escroto do Filipov. Portanto, posso ter certeza de que vai pressionálo bastante. Estarrecido, Dimka se perguntou como Kruschev sabia que ele odiava Filipov. O Exército teria de cumprir uma tarefa quase impossível e, se algo desse errado, a culpa seria dele. Que catástrofe! Mas ele sabia que não podia falar nada. – Obrigado, Nikita Sergueievitch – retrucou, de modo formal. – Pode contar comigo.
CAPÍTULO QUINZE
A limusine GAZ-13 se chamava Gaivota por causa das laterais traseiras aerodinâmicas em estilo americano. Podia chegar a 160 quilômetros por hora, embora andar a essa velocidade nas estradas soviéticas não fosse lá muito confortável. Apesar de também estar disponível em dois tons de bordô ou creme com pneus de risca branca, a de Dimka era preta. Sentado no banco de trás, ele aguardou o carro se aproximar do cais do porto de Sebastopol, na Ucrânia. Situada bem na pontinha da Península da Crimeia, a cidade adentrava o Mar Negro. Vinte anos antes, fora arrasada pelas bombas e pela artilharia alemãs. Depois da guerra, fora reconstruída como um alegre balneário, com varandas mediterrâneas e arcos inspirados em Veneza. Dimka desceu e observou o navio no cais, um cargueiro de transporte de madeira, com imensos compartimentos de carga projetados para comportar troncos inteiros. Sob o sol quente do verão, estivadores carregavam esquis e caixotes com etiquetas bem visíveis de roupas de inverno, para parecer que o destino da embarcação era o norte gelado. Dimka inventara o nome deliberadamente enganoso de Operação Anadyr, em homenagem a uma cidade na Sibéria. Uma segunda limusine Gaivota chegou ao cais e parou atrás da de Dimka. Quatro homens com uniformes da Inteligência do Exército Vermelho saltaram e ficaram parados, aguardando suas instruções. Uma ferrovia passava rente ao cais, e um imenso guindaste montado sobre os trilhos transferia carga diretamente dos vagões para o navio. Dimka olhou para o relógio de pulso. – A porra do trem já deveria ter chegado. Estava uma pilha de nervos. Nunca sentira tanta tensão na vida. Antes de começar aquele projeto, nem sequer sabia o que era estresse. O oficial do Exército Vermelho mais graduado era coronel e se chamava Pankov. Apesar da patente, dirigiu-se a Dimka de maneira respeitosa e formal: – Quer que eu telefone para me informar, Dmitri Ilich? – Acho que ele está vindo – disse um segundo oficial, o tenente Meyer. Dimka olhou para os trilhos ao longe e viu, aproximando-se lentamente, uma fila de vagões abertos e baixos carregados com caixotes de madeira. – Porra! Por que todo mundo acha que não tem problema chegar quinze minutos atrasado? Estava preocupado com espiões. Já tinha visitado o chefe da estação da KGB em Sebastopol e verificado a sua lista de suspeitos nas redondezas. Eram todos dissidentes: poetas, padres, pintores de arte abstrata ou judeus desejosos de se mudar para Israel – os típicos descontentes com o sistema soviético, tão ameaçadores quanto um clube de ciclistas. Dimka mandara prender todos eles mesmo assim, mas nenhum parecia perigoso. Era quase
certo que houvesse agentes da CIA de verdade em Sebastopol, mas a KGB não sabia quem eram. Um homem em uniforme de comandante veio descendo a passarela do navio e falou com Pankov: – É o senhor quem manda aqui, coronel? Pankov meneou a cabeça na direção de Dimka. O comandante se tornou menos deferente. – Meu navio não pode ir para a Sibéria – falou. – O seu destino é uma informação ultrassecreta – retrucou Dimka. – Não o mencione. Em seu bolso, ele trazia um envelope lacrado que o comandante deveria abrir quando saísse do Mar Negro e entrasse no Mediterrâneo. Nesse momento ele ficaria sabendo que seu destino era Cuba. – Preciso de lubrificante para temperaturas frias, anticongelante, equipamento para degelo... – Cale a porra da boca. – Mas eu preciso protestar. As condições na Sibéria... – Dê um soco na boca dele – disse Dimka ao tenente Meyer. Meyer era um homem grande e o golpe foi forte. O comandante caiu para trás com os lábios sangrando. – Volte para o seu navio, aguarde as ordens e mantenha essa porcaria dessa boca fechada – ordenou Dimka. O comandante se retirou, e os homens reunidos no cais tornaram a prestar atenção no trem que se aproximava. A Operação Anadyr era imensa. O trem que vinha chegando era o primeiro de outros dezenove iguais a ele, todos encarregados de trazer apenas aquele primeiro regimento de mísseis até Sebastopol. Ao todo, Dimka estava despachando cinquenta mil homens e 230 mil toneladas de equipamento para Cuba. Sua frota tinha 85 navios. Ele ainda não sabia como conseguiria manter tudo aquilo em segredo. Muitos dos homens com cargos de autoridade na URSS eram descuidados, preguiçosos, bêbados ou pura e simplesmente burros. Não entendiam as instruções recebidas, esqueciam, abordavam tarefas desafiadoras sem muito entusiasmo e depois desistiam, e às vezes apenas decidiam que sabiam fazer melhor. Tentar convencê-los pela lógica era inútil; tentar conquistá-los pelo charme era ainda pior. Tratá-los com amabilidade os fazia pensar que você era um tolo que podia ser ignorado. O trem avançou devagar junto ao navio; seus freios chiaram, aço contra aço. Cada vagão especialmente construído carregava apenas um caixote de madeira de 24 metros de comprimento, 3 de largura e 3 de altura. Um operador subiu no guindaste e entrou na cabine de controle. Estivadores pularam nos vagões e começaram a preparar os caixotes para serem transferidos. Uma companhia de soldados, que tinha viajado a bordo do trem, começou a
ajudar os estivadores. Dimka ficou aliviado ao ver que o regimento de mísseis tinha removido as insígnias dos uniformes, de acordo com as suas instruções. Um homem em trajes civis saltou de um carro e Dimka se irritou ao ver que era Yevgeny Filipov, que ocupava cargo equivalente ao seu no Ministério da Defesa. Como o comandante do navio, Filipov primeiro se dirigiu a Pankov, mas o coronel disse: – Quem está no comando aqui é o camarada Dvorkin. Filipov deu de ombros. – Só alguns minutos de atraso – falou, com ar satisfeito. – Ficamos presos por causa de... Dimka então reparou em uma coisa. – Ah, não – falou. – Puta que pariu! – Algum problema? – indagou Filipov. Dimka bateu com os pés no cais de concreto. – Puta que pariu! – O que foi? – Quem é o responsável pelo trem? – perguntou-lhe Dimka, enfurecido. – O coronel Kats nos acompanhou. – Traga esse imbecil para falar comigo agora mesmo. Filipov não gostava de obedecer às ordens de Dimka, mas não podia recusar um pedido desses; afastou-se para chamar o colega. Pankov olhou para Dimka sem entender. – Está vendo aquilo ali gravado na lateral de cada caixote? – indagou ele, com um tom de raiva e exaustão. Pankov assentiu. – É um número de código do Exército. – Exato – falou Dimka, amargurado. – Significa “míssil balístico R-12”. – Ai, que merda. Furioso e impotente, Dimka balançou a cabeça. – Tem gente que nem torturando... Ele já temia que mais cedo ou mais tarde fosse ter um conflito com o Exército, mas, pensando bem, era até melhor que isso acontecesse agora, no primeiro carregamento. E ele estava preparado. Filipov voltou acompanhado por um coronel e um major. – Bom dia, camaradas – disse o oficial mais graduado. – Sou o coronel Kats. Houve um pequeno atraso, mas, tirando isso, está tudo correndo... – Não está não, seu babaca retardado! – disparou Dimka. Kats não acreditou no que tinha ouvido. – Como disse? – Escute aqui, Dvorkin, você não pode falar assim com um oficial – interveio Filipov. Dimka o ignorou e seguiu falando com Kats:
– Com sua desobediência, o senhor pôs em risco a segurança de toda esta operação. Suas ordens eram cobrir com tinta os números do Exército gravados nos caixotes. O senhor recebeu moldes vazados com os dizeres “Tubulação Plástica para Construção Civil”. Deveria ter gravado isso nos caixotes. – Não deu tempo! – rebateu Kats, indignado. – Seja sensato, Dvorkin – disse Filipov. Dimka suspeitava que o colega da Defesa fosse ficar feliz se o segredo vazasse, pois a credibilidade de Kruschev seria prejudicada e o premiê poderia até cair. Apontou para o sul, na direção do mar. – Olhe ali, seu idiota: a menos de 250 quilômetros naquela direção tem um país da OTAN, porra! Por acaso não sabe que os americanos têm espiões? E que eles mandam esses espiões para lugares como Sebastopol, que é uma base naval e um porto soviético importante? – Os dizeres estão em código... – Em código? O seu cérebro é feito de quê? Cocô de cachorro? Que treinamento imagina que os espiões capitalistas recebem? Eles aprendem a reconhecer as divisas dos uniformes, como por exemplo a insígnia do regimento de mísseis que o senhor está usando na lapela, também contrariando as minhas ordens, além de outros emblemas e códigos de equipamentos militares. Em toda a Europa, qualquer traidor e informante da CIA sabe ler os códigos militares desses caixotes, seu imbecil de merda. Kats tentou manter a dignidade. – Quem está pensando que é? – questionou. – Não se atreva a falar assim comigo. Eu tenho filhos mais velhos que o senhor. – O senhor não está mais no comando desta operação – falou Dimka. – Não seja ridículo. – Mostre a ele, por favor. O coronel Pankov tirou do bolso uma folha de papel que entregou a Kats. – Como pode ver nesse documento, eu tenho autoridade para isso. – Percebeu que Filipov estava de queixo caído. – O senhor está preso por traição. Acompanhe esses homens. O tenente Meyer e outro integrante do grupo de Pankov se posicionaram com agilidade dos lados de Kats, seguraram-no pelos braços e o conduziram até a limusine. Filipov recobrou o domínio de si. – Dvorkin, pelo amor de Deus... – Se não tiver nada útil para dizer, nem adianta abrir a porra dessa boca – disparou Dimka. Então virou-se para o major do regimento de mísseis, que até então não pronunciara uma só palavra. – O senhor é o segundo de Kats? O homem exibia uma expressão aterrorizada. – Sim, camarada. Major Spektor, ao seu dispor. – Quem está no comando agora é o senhor. – Obrigado.
– Tire esse trem da minha frente. Ao norte daqui há um grande complexo de garagens ferroviárias. Combine com a administração da ferrovia parar lá por doze horas enquanto os dizeres dos caixotes são trocados. Traga o trem de volta amanhã. – Sim, camarada. – O coronel Kats vai passar o resto da vida, que não vai ser muito longa, em um campo de trabalho na Sibéria. Portanto, major Spektor, é melhor o senhor não cometer nenhum erro. – Sim, camarada. Dimka entrou na limusine. Enquanto se afastava, passou por Filipov, que continuava em pé no cais com cara de quem não entendia direito o que acabara de acontecer.
Tanya Dvorkin estava em pé no cais de Mariel, litoral norte de Cuba, a 40 quilômetros de Havana, onde uma estreita enseada se abria para um imenso porto natural escondido entre os morros em volta. Nervosa, olhou para o navio soviético atracado a um píer de concreto. No píer, um caminhão soviético ZIL-130 rebocava um trailer de 25 metros. Uma grua retirava um caixote de madeira comprido do compartimento de carga do navio e o movia muito lentamente pelo ar em direção ao caminhão. No caixote estava escrito em russo: “Tubulação Plástica para Construção Civil”. Ela viu tudo isso à luz de refletores. Por ordem de seu irmão, os navios tinham de ser descarregados à noite. Todas as outras embarcações haviam sido retiradas do porto. Barcos de patrulha tinham fechado a enseada. Mergulhadores vasculhavam as águas em volta do navio para protegê-lo de qualquer ameaça submarina. O nome de Dimka era pronunciado em tom de medo: diziam que sua palavra era lei e que sua ira era terrível. Tanya estava escrevendo para a TASS matérias sobre como a União Soviética vinha ajudando Cuba e sobre a imensa gratidão do povo cubano pela amizade daquele aliado distante do outro lado do planeta. A verdade, porém, ela reservava para as mensagens codificadas que mandava, por cabo, para o irmão no Kremlin, usando o sistema telegráfico da KGB. E agora Dimka também lhe atribuíra a tarefa informal de garantir que as suas instruções fossem cumpridas à risca. Por isso ela estava tão nervosa. Ao seu lado estava o general Paz Oliva, o homem mais lindo que Tanya já conhecera. A beleza de Paz era de tirar o fôlego: ele era alto, forte e um pouco assustador, mas só até sorrir e falar com uma voz suave de baixo que a fazia pensar nas cordas de um violoncelo sendo acariciadas pelo arco. Tinha 30 e poucos anos; a maioria dos militares de Fidel Castro era jovem. Com a pele morena e os cabelos cacheados, parecia mais negro do que hispânico. Ele era um modelo da política de igualdade racial de Fidel, tão diferente da de Kennedy. Tanya adorava Cuba, mas isso levara algum tempo para acontecer. Sentia mais saudades de Vasili do que imaginara. Agora percebia quanto gostava dele, mesmo que os dois nunca tivessem sido amantes. Preocupava-se com ele no campo de trabalho da Sibéria, sentindo
fome e frio. A campanha pela qual ele fora punido – divulgar a doença do cantor Ustin Bodian – tivera sucesso, por assim dizer: Bodian tinha sido solto, mas morrera pouco depois em um hospital de Moscou. Vasili consideraria essa ironia reveladora. Com algumas coisas ela não conseguia se acostumar. Embora nunca fizesse frio, ainda vestia um casaco para sair. Ficava enjoada de comer feijão com arroz e, para a própria surpresa, pegava-se ansiando por uma tigela de kasha com creme azedo. No verão, após uma sequência interminável de dias de sol forte, às vezes torcia por um temporal que viesse refrescar as ruas. Os camponeses cubanos eram tão pobres quanto os soviéticos, mas pareciam mais felizes; talvez por causa do clima. Depois de algum tempo, a irrefreável alegria de viver do povo de Cuba acabou fisgando Tanya. Ela passou a fumar charutos e a tomar rum com tuKola, substituto local da Coca-Cola. Adorava dançar com Paz ao ritmo sensual e irresistível da música tradicional conhecida como trova. Fidel tinha fechado quase todas as boates, mas ninguém conseguia impedir os cubanos de tocar violão, e os músicos agora se apresentavam em pequenos bares chamados casas de la trova. Mas os cubanos a deixavam preocupada. Eles haviam desafiado seu gigante vizinho, os Estados Unidos, situado a menos de 150 quilômetros de distância do outro lado do Estreito da Flórida, e Tanya sabia que um dia poderiam ser punidos. Quando pensava nisso, sentia-se como uma ave-do-crocodilo, corajosamente pousada entre as mandíbulas abertas do grande réptil, ciscando comida em uma fileira de dentes que pareciam lâminas de faca. Será que a atitude desafiadora dos cubanos valeria a pena? Só o tempo diria. Tanya via com pessimismo a probabilidade de reformar o comunismo, mas algumas das coisas que Fidel tinha feito eram admiráveis. Em 1961, o Ano da Educação, dez mil estudantes tinham se deslocado para a zona rural para ensinar os camponeses a ler, uma cruzada heroica para erradicar o analfabetismo em uma única campanha. A primeira frase ensinada era “Os camponeses trabalham na cooperativa”, mas e daí? Pessoas alfabetizadas eram mais capazes de reconhecer a propaganda do governo como o que ela de fato era. Fidel estava longe de ser bolchevique. Desdenhava a ortodoxia e vivia à procura de novas ideias. Era por isso que incomodava tanto o Kremlin. Mas ele também não era nenhum democrata. Tanya ficou triste quando ele anunciou que a revolução tinha tornado as eleições desnecessárias. E havia uma área em que ele imitava servilmente a União Soviética: a conselho da KGB, criara uma polícia secreta de eficiência implacável para eliminar a dissidência. Pesando tudo, Tanya desejava sorte para a revolução. Cuba precisava escapar do subdesenvolvimento e do colonialismo. Ninguém queria os americanos de volta com seus cassinos e prostitutas. Mas ela ficava pensando se os cubanos um dia teriam autonomia para tomar as próprias decisões. A hostilidade dos americanos os fizera correr para os braços dos soviéticos, mas, quanto mais Fidel se aproximava da URSS, maior era a probabilidade de sofrer uma invasão dos Estados Unidos. O que Cuba precisava mesmo era ser deixada em paz.
Mas talvez agora houvesse uma chance de isso acontecer. Tanya e Paz pertenciam ao pequeno grupo de pessoas que sabiam o que continham aqueles compridos caixotes de madeira. Ela se reportava diretamente a Dimka em relação à eficácia do plano de segurança. Se a operação desse certo, talvez conseguisse proteger Cuba permanentemente do perigo de uma invasão americana, e dar ao país alguma margem de manobra para encontrar o próprio caminho no futuro. Pelo menos essa era a sua esperança. Fazia um ano que ela conhecia Paz. Enquanto observavam o caixote ser posicionado sobre o trailer, comentou: – Você nunca fala sobre a sua família. – Dirigiu-se a ele em espanhol; agora já dominava razoavelmente bem a língua. Arranhava também um pouco do inglês com sotaque americano que muitos cubanos usavam de vez em quando. – Minha família é a revolução – disse ele. Até parece, pensou ela. Mesmo assim, provavelmente iria para a cama com ele. Paz talvez viesse a se revelar uma versão morena de Vasili: belo, charmoso e infiel. Provavelmente, uma fila de graciosas moças cubanas de olhos brilhantes se revezava em sua cama. Disse a si mesma para não ser cínica. O simples fato de um homem ser deslumbrante não fazia dele obrigatoriamente um Don Juan desmiolado. Talvez Paz estivesse apenas esperando a mulher certa para se tornar sua companheira e trabalhar ao seu lado na missão de construir uma nova Cuba. O caixote contendo o míssil foi amarrado à caçamba do trailer. Paz foi abordado por um tenente baixinho e obsequioso chamado Lorenzo. – Estamos prontos para partir, general. – Podem ir – respondeu Paz. O caminhão se afastou lentamente do cais. Várias motocicletas ligaram o motor e partiram na frente do caminhão para liberar a estrada. Tanya e Paz entraram no carro militar do general, um furgão Buick Le Sabre verde, e seguiram o comboio. As estradas cubanas não tinham sido projetadas para caminhões de 25 metros. Nos últimos três meses, engenheiros do Exército Vermelho haviam construído pontes novas e reconfigurado as curvas mais fechadas, mas, mesmo assim, na maior parte do tempo o comboio avançava a passos de tartaruga. Tanya reparou, aliviada, que todos os outros veículos tinham sido removidos das estradas. Nos vilarejos pelos quais passaram, as casas de madeira de dois cômodos e pé-direito baixo estavam às escuras, e os bares todos fechados. Dimka ficaria satisfeito. Tanya sabia que, lá no cais, outro míssil já estava sendo carregado em outro caminhão. O trabalho vararia a noite até o amanhecer. Descarregar o lote inteiro levaria duas noites. Até o momento, a estratégia de Dimka estava funcionando: ninguém parecia desconfiar do
que a União Soviética fazia em Cuba. Não havia nenhum ruído a respeito no circuito diplomático nem nas páginas não controladas dos jornais do Ocidente. O temido clamor de indignação da Casa Branca ainda não acontecera. Mas ainda faltavam dois meses para as eleições legislativas nos Estados Unidos; mais dois meses até aqueles imensos mísseis ficarem prontos para serem lançados em total sigilo. Tanya não tinha certeza de que seria possível. Duas horas mais tarde, eles chegaram a um amplo vale, agora ocupado pelo Exército Vermelho, onde engenheiros construíam uma base de lançamento. Era apenas um entre mais de uma dúzia de pontos escondidos em meio aos contornos das montanhas por todos os 1.250 quilômetros de extensão da ilha de Cuba. Tanya e Paz saltaram do carro para ver o caixote ser descarregado do caminhão, novamente sob a luz de refletores. – Conseguimos – disse o militar em tom satisfeito. – Nós agora temos armas nucleares. Ele sacou um charuto e o acendeu. – Quanto tempo vai levar para prepará-los? – indagou Tanya, cautelosa. – Não muito – respondeu ele, sem dar importância. – Umas duas semanas. O general não estava com disposição para pensar em problemas, mas, para Tanya, aquilo parecia poder durar mais de duas semanas. O vale era um local de construção poeirento, onde até então pouca coisa tinha sido feita. Mesmo assim, Paz tinha razão: eles já haviam conseguido o mais difícil, que era levar as armas nucleares até Cuba sem que os americanos descobrissem. – Olhe só aquele bebê – disse Paz. – Um dia ele poderá aterrissar bem no meio de Miami. Bum. Pensar nisso fez Tanya ter um calafrio. – Espero que não. – Por quê? Será que ele precisa mesmo ouvir o motivo? – O objetivo dessas armas é ser uma ameaça. É deixar os americanos com medo de invadir Cuba. Se elas um dia forem usadas, terão fracassado. – Pode ser. Mas, se eles nos atacarem, poderemos riscar do mapa cidades americanas inteiras. Tanya ficou incomodada com o óbvio deleite que essa terrível possibilidade causava no general. – E do que iria adiantar? Paz pareceu espantado com a pergunta. – Vai preservar a dignidade da nação cubana. – Ele pronunciou a palavra espanhola dignidad como se fosse sagrada. Tanya mal conseguiu acreditar no que estava escutando. – Quer dizer que você daria início a uma guerra nuclear em nome da sua dignidade?
– Claro. O que poderia ser mais importante? – A sobrevivência da raça humana, para começar! – respondeu ela, indignada. Ele acenou com o charuto aceso em um gesto de desdém. – Você se preocupa com a raça humana; eu, com a minha honra. – Puta merda – disse ela. – Você está louco? Paz a encarou. – O presidente Kennedy está preparado para usar armas nucleares se os Estados Unidos forem atacados. O premiê Kruschev as usará se a União Soviética for atacada. O mesmo vale para De Gaulle, na França, e para quem quer que seja o líder da Grã-Bretanha. Se algum deles disser algo diferente, será deposto em questão de horas. – Ele tragou o charuto, fazendo a ponta se acender até ficar vermelha, em seguida soltou a fumaça. – Se eu estou louco, todos eles também estão.
George Jakes não sabia qual era a emergência. Na manhã de terça-feira, 16 de outubro, Bobby Kennedy convocou a ele e a Dennis Wilson para uma reunião de crise na Casa Branca. Seu melhor palpite era que o assunto seria a manchete do The New York Times daquele dia, cujo título era:
EISENHOWER CONSIDERA O PRESIDENTE FRACO EM POLÍTICA EXTERNA
A regra implícita era que ex-presidentes não atacassem seus sucessores, mas George não estava surpreso por Eisenhower ter ignorado essa convenção. Jack Kennedy ganhara a eleição tachando seu adversário de fraco e inventando um “diferencial de mísseis” inexistente a favor dos soviéticos. Estava claro que o golpe ainda doía em Ike. Agora que Kennedy estava vulnerável a uma acusação parecida, seu antecessor estava se vingando – exatamente três semanas antes das eleições legislativas de meio de mandato. A outra possibilidade era pior. O grande temor de George era que a Operação Mangusto tivesse vazado. A revelação de que o presidente e seu irmão estavam organizando ações terroristas internacionais serviria de munição para qualquer candidato republicano. Eles diriam que os Kennedy eram criminosos por agir assim e tolos por deixarem o segredo vazar. E quem poderia saber as represálias que Kruschev seria capaz de conceber? Logo viu que seu chefe estava irado. Bobby não tinha nenhum talento para esconder os próprios sentimentos. A raiva transparecia na contração de seu maxilar, nos ombros curvados e na expressão gélida de seus olhos azuis. George gostava de Bobby por suas emoções sinceras. Todos os que trabalhavam com ele muitas vezes podiam ver o que ele estava sentindo. Isso o tornava mais vulnerável, porém mais carismático também.
Quando entraram na Sala do Gabinete, o presidente já estava lá. Sentado do lado oposto de uma mesa comprida sobre a qual havia diversos cinzeiros grandes, posicionado bem no centro, com o selo presidencial na parede logo atrás, um pouco mais acima. De cada lado do selo, altas janelas em arco davam para o Roseiral da Casa Branca. Ao seu lado estava uma menina pequena de vestido branco que obviamente devia ser sua filha Caroline, que ainda não tinha completado 5 anos. Seus cabelos castanho-claros curtos estavam repartidos de lado, iguais aos do pai, e presos por uma fivela simples. Ela conversava com ele, muito séria, explicando algo, e ele a escutava com atenção, como se as suas palavras fossem tão importantes quanto qualquer outra coisa que pudesse ser dita ali, naquela sala de poder. George ficou profundamente impressionado com a forte conexão entre pai e filha. Se um dia eu for pai de uma menina, pensou, vou escutá-la assim, para ela saber que é a pessoa mais importante do mundo. Os assessores assumiram seus lugares junto à parede. George sentou-se ao lado de Skip Dickerson, que trabalhava para o vice Lyndon Johnson. Skip tinha cabelos lisos muito louros e pele clara; parecia quase albino. Afastou a franja loura dos olhos e perguntou, com um sotaque sulista: – Faz alguma ideia de onde é o incêndio? – Bobby não quis dizer – respondeu George. Uma mulher que ele não conhecia entrou na sala e levou Caroline embora. – A CIA tem novidades para nós – disse o presidente. – Vamos começar. Nos fundos da sala, em frente à lareira, um cavalete exibia uma grande fotografia em preto e branco. O homem em pé ao seu lado se apresentou: era um especialista em interpretação de imagens. George nem sabia que essa profissão existia. – As fotos que vocês vão ver agora foram tiradas no domingo por uma aeronave U-2 de grande altitude da CIA que estava sobrevoando Cuba. A existência dos aviões espiões da CIA era notória. Os soviéticos tinham abatido um deles na Sibéria dois anos antes e processado o piloto por espionagem. Todos olharam para a foto borrada e granulosa sobre o cavalete, que, aos olhos de George, não mostrava nada reconhecível a não ser árvores, talvez. Eles precisavam de um intérprete para saber o que estavam vendo. – Isto aqui é um vale em Cuba a uns 30 quilômetros do porto de Mariel – disse o perito da CIA, apontando com um pequeno bastão. – Uma estrada nova de boa qualidade conduz a um grande descampado. Essas formas pequeninas espalhadas em volta são veículos de construção: escavadeiras, retroescavadeiras e caminhões de entulho. E aqui... – Ele bateu na imagem para enfatizar o que dizia. – Aqui, bem no meio, dá para ver um grupo de formas que parecem tábuas de madeira enfileiradas. Na realidade são caixotes de 25 metros de comprimento por 3 de largura, exatamente o tamanho e o formato necessários para comportar um míssil balístico intermediário soviético R-12, projetado para carregar uma ogiva nuclear. Foi por pouco que George conseguiu se conter e não exclamar um puta merda, mas à sua
volta houve quem não fosse tão controlado e, por alguns segundos, a sala se encheu de palavrões ditos em tom de surpresa. – Vocês têm certeza? – perguntou alguém. O perito tornou a apontar. – Eu estudo fotos de reconhecimento aéreo há muitos anos, meu senhor, e posso lhe garantir duas coisas: primeiro, esse é exatamente o aspecto de mísseis nucleares, e segundo, nenhuma outra coisa tem esse aspecto. Que Deus nos proteja, pensou George, assustado: os malditos cubanos têm armas nucleares. – E como é que eles foram parar lá? – perguntou outra pessoa. – Está claro que os soviéticos os levaram em condições de total sigilo – respondeu o perito. – Bem debaixo dos nossos narizes, porra! – exclamou quem tinha feito a pergunta. – E qual é o alcance desses mísseis? – quis saber um terceiro participante. – Mais de 1.600 quilômetros. – Quer dizer que eles poderiam atingir... – Este prédio. George teve de reprimir o impulso de se levantar e sair dali naquele mesmo instante. – E quanto tempo levaria? – Para o míssil chegar aqui vindo de Cuba? Pelos nossos cálculos, treze minutos. Involuntariamente, George olhou para as janelas, como se pudesse ver um míssil se aproximando pelo Roseiral. – Kruschev mentiu para mim, aquele filho da puta – concluiu o presidente. – Ele me garantiu que não iria pôr mísseis nucleares em Cuba. – E a CIA nos disse para acreditar nele – completou Bobby. – Isso com certeza vai dominar as três semanas que faltam de campanha eleitoral – observou alguém. Com alívio, George começou a pensar nas consequências políticas domésticas: a possibilidade de uma guerra nuclear era terrível demais para ser considerada. Pensou na edição daquela manhã do The New York Times. Eisenhower agora podia dizer muito mais coisa! Pelo menos, quando ele era presidente, não permitira que a URSS transformasse Cuba em uma base nuclear comunista. Aquilo era um desastre, e não apenas para a política externa. Uma vitória republicana em novembro significaria que Kennedy não poderia fazer mais nada em seus últimos dois anos no poder; seria o fim da batalha pelos direitos civis. Com mais republicanos engrossando o time dos democratas sulistas na oposição à igualdade para os negros, Kennedy não teria a menor chance de fazer passar uma Lei de Direitos Civis. Quanto tempo o avô de Maria teria de esperar para poder tirar seu título de eleitor sem ir para a cadeia? Em política, tudo estava interligado.
Precisamos fazer alguma coisa em relação a esses mísseis, pensou George. Só não tinha a menor ideia do quê. Felizmente, Jack Kennedy tinha. – Em primeiro lugar, temos de intensificar a vigilância de Cuba pelos U-2 – disse o presidente. – Precisamos saber quantos mísseis eles têm e onde estão. E, quando soubermos, juro por Deus que vamos destruí-los. George se animou. De repente, o problema não lhe pareceu mais tão grave assim. Os Estados Unidos tinham centenas de aeronaves e milhares de bombas. O fato de o presidente tomar atitudes decididas e agressivas para proteger o país não faria mal aos democratas nas legislativas. Todos olharam para o general Maxwell Taylor, chefe do Estado-Maior Conjunto e principal comandante militar dos Estados Unidos depois do presidente. Seus cabelos ondulados lustrosos de brilhantina e repartidos bem no alto da cabeça fizeram George pensar que ele talvez fosse um homem vaidoso. Tanto Jack quanto Bobby confiavam em Taylor, mas ele não sabia muito bem por quê. – Um ataque aéreo precisaria ser seguido por uma invasão integral a Cuba – disse o general. – E nós temos um plano de contingência para isso. – Podemos desembarcar 150 mil homens lá uma semana depois do bombardeio. Kennedy ainda estava pensando em destruir os mísseis soviéticos. – Temos a garantia de que todas as bases em Cuba serão destruídas? – indagou ele. – Nunca vamos poder ter cem por cento de certeza, presidente – respondeu Taylor. George não tinha pensado nesse porém. Cuba tinha 1.250 quilômetros de extensão. A Força Aérea talvez não conseguisse encontrar todas as bases, que dirá destruí-las. – E imagino que qualquer míssil restante depois do nosso ataque aéreo seria disparado imediatamente contra os Estados Unidos – continuou Kennedy. – Sim, presidente, temos de partir desse princípio – concordou Taylor. Kennedy ostentou um ar sombrio, e George teve uma súbita e vívida percepção do enorme peso da responsabilidade que ele tinha de suportar. – Me diga uma coisa – pediu. – Se um míssil atingisse uma cidade americana de médio porte, qual seria o estrago? A política eleitoral desapareceu da mente de George, e mais uma vez seu coração gelou ao pensar na terrível possibilidade de um conflito nuclear. O general Taylor confabulou por alguns instantes com seus assessores antes de tornar a se virar para a mesa. – Pelos nossos cálculos, presidente, 600 mil pessoas iriam morrer.
CAPÍTULO DEZESSEIS
Anya, mãe de Dimka, queria conhecer Nina. Isso o deixou espantado. Estava animado com o namoro e dormia com ela sempre que tinha oportunidade, mas o que isso tinha a ver com sua mãe? Quando lhe fez essa pergunta, Anya respondeu com irritação: – Você era o menino mais inteligente da escola, mas às vezes pode ser mesmo um bobo. Escute aqui: todos os fins de semana em que não está viajando com Kruschev você passa com essa mulher. É óbvio que ela é importante. Faz três meses que estão saindo. É claro que a sua mãe quer saber que cara ela tem! Que pergunta é essa? Ela estava certa, pensou. Nina não era só uma pretendente, nem mesmo um simples flerte. Era sua namorada. Tinha se tornado parte da sua vida. Apesar de amar a mãe, Dimka não lhe obedecia em tudo: ela não aprovava sua moto, sua calça jeans ou seu amigo Valentin. Mesmo assim, para agradá-la faria qualquer coisa dentro dos limites do razoável, então convidou Nina para ir visitá-los. No início, ela recusou. – Não quero ser inspecionada pela sua família como um carro usado que você está pensando em comprar – disse, ressentida. – Diga à sua mãe que eu não quero me casar. Ela logo vai perder o interesse por mim. – Não é minha família. É só ela – garantiu-lhe Dimka. – Meu pai já morreu e minha irmã está em Cuba. E, afinal, o que você tem contra o casamento? – Por quê? Você está pedindo a minha mão? Ele ficou encabulado. Nina era empolgante e sensual, e ele nunca sequer chegara perto daquele grau de envolvimento com uma mulher, mas casar-se não havia lhe passado pela cabeça. Será que ele queria passar o resto da vida ao seu lado? Esquivou-se da pergunta: – Só estou tentando entender você. – Eu já fui casada e não gostei. Entendeu agora? Nina era naturalmente desafiadora. Ele não ligava; era parte do que a tornava tão empolgante. – Você prefere ser solteira – falou. – Claro. – O que tem de tão bom nisso? – Como eu não preciso agradar a nenhum homem, posso agradar a mim mesma. E quando quero alguma outra coisa posso sair com você. – E eu me encaixo direitinho nesse espaço. O duplo sentido da frase a fez sorrir.
– Exatamente. No entanto, ela passou algum tempo pensativa; então falou: – Ah, que droga, não quero transformar sua mãe numa inimiga. Eu vou. No dia marcado, Dimka estava nervoso. Nina era imprevisível. Quando acontecia alguma coisa que lhe desagradava – um prato quebrado por descuido, um tropeço real ou imaginário, um leve tom de reprovação na voz dele –, sua reação era como uma rajada do vento norte de Moscou em pleno mês de janeiro. Torceu para ela se dar bem com Anya. Era a primeira vez que Nina entrava na Casa do Governo. Ficou impressionada com a portaria, do mesmo tamanho de um pequeno salão de baile. Apesar de não ser grande, o apartamento tinha acabamentos luxuosos em comparação com a maioria dos lares moscovitas: tapetes felpudos, papel de parede caro e um móvel radiola, um armário de madeira que conjugava toca-discos e rádio. Esses eram os privilégios dos altos oficiais da KGB, como o pai de Dimka. Anya havia preparado uma farta variedade de aperitivos, que os moscovitas preferiam a um jantar formal: arenque defumado e ovos cozidos com pimenta vermelha sobre pão branco; pequenos sanduíches de pepino e tomate no pão de centeio; e sua pièce de résistance, uma travessa de “barquinhos a vela”, torradas de formato oval com triângulos de queijo na vertical, presos por um palito, como se fossem velas. Anya estava usando um vestido novo e maquiagem leve. Tinha engordado um pouco desde a morte do marido, e os quilos extras lhe caíam bem. Dimka sentia que a mãe ficara mais feliz depois que seu pai morrera. Talvez Nina estivesse certa em relação ao casamento. A primeira coisa que Anya disse a Nina foi: – Meu Dimka tem 23 anos, mas esta é a primeira vez que ele traz uma garota para casa. Desejou que a mãe não tivesse feito esse comentário; assim ele ficava parecendo um principiante. Era mesmo um principiante, e Nina já percebera havia muito tempo, mas nem por isso precisava que alguém lhe recordasse o fato. De todo modo, estava aprendendo depressa. Nina dizia que ele era bom amante, melhor do que seu ex-marido, embora não entrasse em detalhes. Para surpresa dele, Nina se esforçou para ser simpática com sua mãe, chamando-a educadamente de Anya Grigorivitch, ajudando-a na cozinha, perguntando-lhe onde havia comprado o vestido. Depois de tomarem um pouco de vodca, Anya relaxou o suficiente para dizer: – Mas Nina, meu Dimka me disse que você não quer se casar. Dimka grunhiu. – Mãe, isso é um assunto pessoal! Mas Nina não pareceu se importar. – Eu sou como a senhora: já fui casada – falou. – Mas eu sou velha. Anya tinha 45 anos, idade em geral considerada avançada demais para segundas núpcias.
Considerava-se que, para mulheres dessa idade, o desejo fosse coisa do passado; caso contrário, elas eram malvistas. Uma viúva respeitável que se casasse na meia-idade tomava sempre o cuidado de dizer a todo mundo que era “só pela companhia”. – A senhora não parece velha, Anya Grigorivitch – disse Nina. – Poderia ser a irmã mais velha de Dimka. Era mentira, mas mesmo assim Anya gostou do comentário. Talvez as mulheres sempre apreciassem aquele tipo de elogio, independentemente da credibilidade. De todo modo, ela não protestou. – Enfim, sou velha demais para ter outros filhos. – Eu também não posso ter filhos. – Ah! – Anya ficou abalada com essa revelação, que atrapalhava todas as suas fantasias. Por um breve instante, esqueceu-se do tato. – Por que não? – perguntou. – Por motivos médicos. – Ah. Ficou óbvio que Anya teria gostado de saber mais. Dimka já havia reparado que muitas mulheres se interessavam por detalhes médicos. Mas Nina parou por aí, como sempre acontecia em relação àquele assunto. Alguém bateu à porta. Dimka suspirou. Já podia adivinhar quem era. Foi abrir. Deparou-se com os avós, que moravam no mesmo prédio. – Ah, Dimka... você está em casa! – exclamou seu avô Grigori Peshkov, fingindo surpresa. Ele estava de uniforme. Tinha quase 74 anos, mas recusava-se a se aposentar. Na opinião de Dimka, velhos que não sabiam a hora de sair de cena eram um grave problema na União Soviética. Sua avó Katerina tinha arrumado os cabelos. – Nós trouxemos caviar – disse ela. Estava óbvio que aquela não era a visita casual que eles queriam fazer parecer que fosse. Os dois tinham ficado sabendo da visita de Nina e foram até lá conferi-la. Exatamente como temia, a moça estava sendo inspecionada pela família. Dimka fez as apresentações. Katerina deu um beijo em Nina e Grigori segurou a mão dela por um tempo maior do que o necessário. Para seu alívio, Nina continuou se mostrando encantadora e chamou seu avô de “camarada general”. Percebendo na hora que ele era suscetível ao charme de moças bonitas, começou a flertar, para deleite do velho, ao mesmo tempo que lançava para Katerina um olhar que dizia Nós duas sabemos como são os homens. Grigori lhe perguntou sobre seu trabalho. Nina lhe contou que fora promovida recentemente: agora era gerente editorial e organizava a impressão das várias publicações internas do sindicato. Já Katerina lhe fez perguntas sobre a família, e ela respondeu que não os via muito, já que todos ainda moravam em Perm, sua cidade natal, 24 horas de trem a leste de Moscou. Nina logo conseguiu fazer Grigori falar sobre seu assunto preferido: os deslizes históricos
do filme Outubro, de Eisenstein, sobretudo nas cenas que retratavam a tomada do Palácio de Inverno, da qual ele havia participado. Dimka ficou feliz por todos estarem se dando tão bem, mas ao mesmo tempo teve a desconfortável sensação de não estar no controle do que acontecia ali. Era como se estivesse em um navio, singrando águas tranquilas rumo a um destino desconhecido: por enquanto estava tudo bem, mas o que haveria adiante? O telefone tocou e ele atendeu. Sempre atendia à noite, pois em geral era o Kremlin querendo falar com ele. Ouviu a voz de Natalya Smotrov dizer: – Acabei de ter notícias da estação da KGB em Washington. Falar com ela enquanto Nina estava no mesmo recinto o deixou pouco à vontade. Disse a si mesmo que deixasse de ser idiota: nunca havia tocado em Natalya. No entanto, tinha pensado nisso. Mas um homem não precisava sentir culpa pelos próprios pensamentos, precisava? – O que houve? – indagou. – Kennedy marcou um pronunciamento à população americana pela TV para hoje à noite. Como sempre, ela era a primeira a saber das notícias quentes. – Por quê? – Eles não sabem. Na hora, Dimka pensou em Cuba. A maioria dos mísseis já estava lá, com as ogivas nucleares correspondentes. Toneladas de equipamento auxiliar e milhares de soldados também já tinham chegado. Em poucos dias, os armamentos estariam prontos para serem lançados. A missão estava quase terminada. No entanto, ainda faltavam quinze dias para as eleições legislativas nos Estados Unidos. Dimka andava pensando em pegar um avião até Cuba – havia um voo regular entre Praga e Havana – para garantir que não houvesse nenhum vazamento por mais algum tempo. Era fundamental que o segredo fosse mantido só mais um pouco. Rezou para que a aparição surpresa de Kennedy na TV fosse sobre algum outro assunto, talvez Berlim ou o Vietnã. – A que horas vai ser? – perguntou a Natalya. – Sete da noite, horário da Costa Leste dos Estados Unidos. Ou seja, duas da manhã em Moscou. – Vou ligar para ele agora mesmo – falou. – Obrigado. Desligou, e logo em seguida discou o número da casa de Kruschev. Quem atendeu foi Ivan Tepper, chefe da equipe de funcionários da casa, o equivalente de um mordomo. – Boa noite, Ivan – cumprimentou Dimka. – Ele está? – Está indo se deitar – respondeu Ivan. – Diga a ele para vestir as calças de novo. Kennedy vai falar na televisão às duas da manhã daqui. – Um instante, ele chegou.
Dimka ouviu um diálogo abafado, e então a voz de Kruschev: – Eles acharam nossos mísseis! Dimka sentiu um aperto no peito. A intuição espontânea do premiê em geral estava certa. O segredo tinha vazado e quem levaria a culpa era ele. – Boa noite, camarada primeiro-secretário – falou, e as quatro pessoas que estavam na sala com ele se calaram. – Ainda não sabemos qual vai ser o assunto do pronunciamento. – São os mísseis, com certeza. Convoque uma reunião de emergência do Presidium. – Para que horas? – Daqui a uma hora. – Está bem. Kruschev desligou. Dimka ligou para a casa de sua secretária. – Oi, Vera. Um Presidium de emergência, hoje às dez da noite. Ele está a caminho do Kremlin. – Vou começar a convocar as pessoas – disse ela. – Está com os telefones em casa? – Estou. – É claro! Obrigado. Chego ao escritório em alguns minutos. – Ele desligou. Todos o encaravam. Tinham-no ouvido dizer Boa noite, camarada primeiro-secretário. Grigori exibia um ar de orgulho, Katerina e Anya pareciam preocupadas, e Nina tinha nos olhos um brilho de empolgação. – Preciso ir trabalhar – falou, embora não fosse necessário. – Qual é a emergência? – quis saber Grigori. – Ainda não sabemos. Seu avô lhe deu uns tapinhas no ombro e assumiu uma expressão emocionada. – Com homens como você e meu filho Volodya no comando, sei que a revolução está segura. Dimka sentiu-se tentado a dizer que não tinha tanta certeza, mas em vez disso falou: – Avô, pode pedir um carro do Exército para levar Nina em casa? – Claro. – Lamento interromper o encontro... – Não se preocupe – falou seu avô. – O seu trabalho é mais importante. Vá, ande logo. Dimka vestiu o sobretudo, deu um beijo em Nina e saiu. Enquanto descia no elevador, pensou agoniado se, apesar de todos os seus esforços, teria de alguma forma deixado escapar o segredo dos mísseis cubanos. Havia comandado a operação toda com a mais estrita segurança e sua eficiência tinha sido brutal. Mostrara-se um verdadeiro tirano, punira os erros com severidade, humilhara os tolos e arruinara as carreiras daqueles que não conseguiram cumprir meticulosamente as suas ordens. O que mais poderia ter feito?
Na rua, estava havendo um ensaio noturno para o desfile militar marcado para o Dia da Revolução, dali a duas semanas. Uma fila interminável de tanques, peças de artilharia e soldados avançava ruidosamente pela margem oblíqua do rio Moscou. Nada disso vai nos adiantar se houver uma guerra nuclear, pensou ele. Os americanos não sabiam, mas a URSS tinha poucas armas nucleares, nem de longe a mesma quantidade que os Estados Unidos. Os soviéticos podiam ferir os americanos, sim, mas os americanos podiam riscar a União Soviética do mapa. Como a rua estava interditada para o desfile e o Kremlin ficava a pouco mais de um quilômetro, Dimka deixou a moto em casa e foi a pé. O Kremlin era uma fortaleza triangular, situada na margem norte do rio, que abrigava diversos palácios agora convertidos em prédios do governo. Dimka foi até o Senado, prédio amarelo de colunas brancas, e subiu de elevador ao segundo andar. Foi seguindo um tapete vermelho por um corredor de pé-direito alto até a sala de Kruschev, mas o primeirosecretário ainda não tinha chegado. Então avançou mais duas portas até a sala do Presidium. Felizmente, estava tudo limpo e arrumado. O Presidium do Comitê Central do Partido Comunista era, na prática, o órgão responsável pelo governo da URSS, presidido por Kruschev. Era ali que ficava o núcleo do poder. O que o premiê faria? Dimka foi o primeiro a chegar, mas outros membros do Presidium não demoraram a aparecer com seus assessores. Ninguém sabia o que Kennedy pretendia. Yevgeny Filipov chegou com seu chefe, o ministro da Defesa Rodion Malinovski. – Que cagada – disse Filipov, mal conseguindo conter a euforia. Dimka o ignorou. Natalya entrou acompanhando o ministro das Relações Exteriores Andrei Gromyko, homem elegante de cabelos negros. Ela decidira que a hora tardia permitia trajes mais casuais, e estava bonita com uma calça jeans em estilo americano e um suéter de lã folgado com uma volumosa gola enrolada. – Obrigado por me avisar antes – murmurou-lhe Dimka. – Estou muito grato, mesmo. Ela tocou seu braço. – Eu estou do seu lado. Você sabe disso. Kruschev chegou e abriu a reunião dizendo: – Acho que o pronunciamento de Kennedy vai ser sobre Cuba. Dimka sentou-se junto à parede atrás do premiê, pronto para sair e tomar qualquer providência. O líder poderia precisar de uma pasta, um jornal ou relatório, ou então querer um chá, uma cerveja ou um sanduíche. Dois outros assessores de Kruschev estavam sentados ao seu lado. Nenhum deles conhecia a resposta para as grandes perguntas: os americanos tinham encontrado os mísseis? Em caso positivo, quem havia deixado o segredo vazar? O futuro do mundo estava por um triz, mas Dimka estava igualmente preocupado com o próprio futuro, o que lhe causava certa vergonha.
A impaciência era enlouquecedora. Faltavam quatro horas para o pronunciamento de Kennedy. Será que o Presidium não conseguiria descobrir o conteúdo de seu discurso antes disso? Para que servia a KGB? Com seus traços regulares e fartos cabelos grisalhos, o ministro da Defesa Malinovski parecia um astro do cinema veterano. Segundo ele, os Estados Unidos não estavam prestes a invadir Cuba. A Inteligência do Exército Vermelho tinha agentes na Flórida. Havia alguns soldados reunidos lá, mas, em sua opinião, nem de longe era o suficiente para uma invasão. – Isso é algum tipo de truque de campanha eleitoral – falou. Dimka pensou que ele soava excessivamente confiante. Kruschev também demonstrou ceticismo. Talvez Kennedy não quisesse mesmo uma guerra com Cuba, mas será que ele tinha liberdade para agir como quisesse? O premiê acreditava que o presidente americano vivesse, pelo menos em parte, sob o controle do Pentágono e de capitalistas-imperialistas como a família Rockefeller. – Precisamos de um plano de contingência para o caso de os americanos de fato invadirem – falou. – Nossas tropas têm de estar preparadas para essa eventualidade. – Ele ordenou um intervalo de dez minutos para os membros do comitê considerarem as alternativas. Dimka ficou horrorizado com a rapidez com a qual o Presidium começara a falar em guerra. O plano nunca tinha sido aquele! Quando Kruschev decidira mandar mísseis para Cuba, sua intenção não era provocar um confronto. Como chegamos a esse ponto?, perguntouse, desesperado. Viu Filipov deliberando com Malinovski e vários outros em um grupinho intimidador. O assessor do ministro da Defesa anotou algo em um papel. Quando todos voltaram à mesa, Malinovski leu o rascunho de uma ordem para o comandante soviético em Cuba, general Issa Pliyev, autorizando-o a usar “todos os meios disponíveis” para defender a ilha. Dimka quis perguntar: Vocês ficaram malucos? Kruschev pensava a mesma coisa. – Isso significa dar autorização a Pliyev para começar uma guerra nuclear! – falou, zangado. Para alívio de Dimka, Anastas Mikoyan apoiou o premiê. Sempre contemporizador, Mikoyan parecia um advogado de província, com seu bigode bem aparado e seus cabelos ralos, mas era ele quem conseguia convencer Kruschev a desistir de seus planos mais temerários. Ele se opôs a Malinovski. Por ter visitado Cuba pouco depois da revolução, sabia muito bem do que estava falando. – E se déssemos o controle dos mísseis a Fidel? – propôs Kruschev. Dimka já ouvira seu chefe dizer coisas loucas, sobretudo durante conversas hipotéticas, mas aquilo era uma irresponsabilidade mesmo para os seus padrões. O que ele estava pensando? – Se me permite, recomendo que não façamos isso – disse Mikoyan, calmo. – Os americanos sabem que não queremos uma guerra nuclear e, se nós controlarmos as armas, vão
tentar resolver o problema pela diplomacia. Mas eles não vão confiar em Fidel Castro. Se souberem que é o dedo dele que está no gatilho, talvez tentem destruir todos os mísseis em Cuba com um primeiro ataque aéreo avassalador. Kruschev aceitou o argumento, mas não estava preparado para desistir por completo das armas nucleares. – Nesse caso, os americanos poderiam retomar Cuba! – falou, indignado. Alexei Kosygin então interveio. Embora dez anos mais novo do que Kruschev, era seu aliado mais próximo. A calvície avançada havia deixado no topo de sua cabeça um topete grisalho que parecia a proa de um navio. Apesar de seu rosto vermelho de beberrão, Dimka o considerava o homem mais inteligente do Kremlin. – Não deveríamos estar pensando em quando usar armas nucleares – disse ele. – Se chegarmos a esse ponto, teremos fracassado miseravelmente. A questão a ser debatida é: que atitudes podemos tomar para garantir que a situação não se deteriore e vire um conflito nuclear? – Graças a Deus, pensou Dimka. Enfim alguém diz uma coisa sensata. – Proponho que o general Pliyev seja autorizado a defender Cuba por todos os meios menos o uso de armas nucleares. Malinovski expressou dúvidas, pois temia que a inteligência americana desse um jeito de descobrir essa ordem. No entanto, apesar das reservas do ministro da Defesa, a proposta foi aprovada e a mensagem, enviada. A ameaça de um holocausto nuclear ainda pairava, mas pelo menos o Presidium estava concentrando seus esforços em evitar uma guerra, e não em travá-la. Logo depois, Vera Pletner espichou a cabeça para dentro da sala e fez um gesto chamando Dimka. Ele saiu discretamente. No largo corredor, a secretária lhe entregou três folhas de papel. – O pronunciamento de Kennedy – falou, em voz baixa. – Graças a Deus! – Ele conferiu o relógio: era 1h15 da manhã; faltavam 45 minutos para o presidente ir ao ar. – Como conseguimos isso? – O governo americano teve a gentileza de entregar uma cópia antecipada à nossa embaixada em Washington, e o Ministério das Relações Exteriores rapidamente a traduziu. Em pé no corredor, acompanhado apenas por Vera, Dimka leu depressa. “Como prometido, este governo vigiou de perto a movimentação militar soviética na ilha de Cuba.” Kennedy falava em ilha, reparou Dimka, como se Cuba não fosse um país de verdade. “Na última semana, indícios inconfundíveis demonstraram que uma série de bases para mísseis ofensivos está agora sendo montada naquela ilha aprisionada.” Indícios?, pensou Dimka. Que indícios? “A finalidade dessas bases não pode ser outra senão proporcionar uma capacidade de ataque nuclear contra o hemisfério ocidental.” Dimka seguiu lendo, mas, para sua irritação, Kennedy não dizia como tinha obtido a informação, se de traidores ou espiões, na URSS ou em Cuba mesmo, ou então por algum outro expediente. Ainda não sabia se aquela crise era culpa sua.
O discurso de Kennedy dava muita importância ao sigilo dos soviéticos, que tachava de engodo. Era justo, pensou Dimka: em uma situação inversa, Kruschev teria feito a mesma acusação. Mas o que o presidente americano iria fazer? Dimka foi pulando trechos até chegar à parte importante. “Primeiro, para deter essa escalada ofensiva, estamos implementando uma rígida quarentena de todo o material militar ofensivo transportado para Cuba.” Ah, pensou ele: um bloqueio naval. Isso contrariava as leis internacionais, motivo pelo qual Kennedy usava a palavra quarentena, como se estivesse combatendo alguma espécie de epidemia. “Caso se descubra que carregam armas ofensivas, embarcações de qualquer tipo com destino a Cuba, de qualquer porto ou nação, terão de dar meia-volta.” Dimka viu na hora que aquilo era apenas um começo. A quarentena não faria diferença: a maior parte dos mísseis estava instalada e praticamente pronta para ser lançada e, se as suas informações fossem tão boas quanto pareciam, Kennedy já devia saber disso. O bloqueio naval era apenas simbólico. O discurso continha também uma ameaça: “A política deste país será considerar qualquer míssil nuclear disparado de Cuba contra qualquer nação do hemisfério ocidental um ataque da União Soviética contra os Estados Unidos, que exigirá uma reação retaliatória integral contra a União Soviética.” Dimka sentiu um frio pesado na barriga. Aquilo era uma ameaça terrível. Kennedy não se daria ao trabalho de saber se os mísseis tinham sido disparados pelos cubanos ou pelo Exército Vermelho; para ele, não fazia diferença. Tampouco se importaria em saber qual era o alvo. Se eles bombardeassem o Chile, seria o mesmo que bombardear Nova York. Assim que uma de suas armas nucleares fosse disparada, os Estados Unidos transformariam a União Soviética em um deserto radioativo. Dimka visualizou a imagem de todos os seus conhecidos e da nuvem em forma de cogumelo de uma explosão nuclear, e na sua imaginação esta se ergueu sobre o centro de Moscou, acima das ruínas do Kremlin, de sua casa e de todos os prédios que ele conhecia, enquanto cadáveres calcinados boiavam feito uma tenebrosa espuma nas águas envenenadas do rio Moscou. Outra frase chamou sua atenção: “É difícil solucionar ou mesmo debater esses problemas em uma atmosfera de intimidação.” A hipocrisia dos americanos o deixou sem ar. O que era a Operação Mangusto senão intimidação? Fora a Mangusto que convencera o relutante Presidium a mandar mísseis para Cuba. Dimka estava começando a desconfiar que, em política internacional, a agressão era um tiro que costumava sair pela culatra. Já tinha lido o suficiente. Voltou para a sala do Presidium, andou rapidamente até Kruschev e lhe entregou o maço de papéis. – O discurso que Kennedy vai dar na TV – falou, em voz alta o bastante para todos
ouvirem. – Uma cópia antecipada fornecida pelos Estados Unidos. Kruschev arrancou os papéis de sua mão e começou a ler. O recinto caiu em silêncio. Não adiantava dizer nada até todos saberem o que continha o documento. O premiê leu com toda a calma o texto formal, abstrato. De vez em quando, dava um muxoxo de desdém ou um grunhido de surpresa. Conforme ele ia lendo, Dimka sentiu sua ansiedade se transformar em alívio. Depois de vários minutos, Kruschev pousou sobre a mesa a última página. Por fim, ergueu os olhos. Um sorriso se abriu em seu rosto gordo de camponês enquanto olhava para os colegas reunidos em volta da mesa. – Camaradas – falou. – Nós salvamos Cuba!
Como era seu costume, Jacky interrogou George sobre sua vida amorosa: – Você está namorando? – Acabei de terminar com Norine. – Acabou? Já faz seis meses. – Ah, é... Acho que faz mesmo. Sua mãe tinha preparado frango frito com quiabo e os bolinhos de fubá que chamava de hush puppies, a comida favorita de George quando criança. Agora, aos 27 anos, ele preferia carne malpassada com salada ou massa ao molho de mariscos. Além disso, geralmente jantava às oito da noite, não às seis da tarde. No entanto, começou a comer sem lhe dizer nada disso; preferia não estragar o prazer que a mãe sentia ao alimentá-lo. Como sempre, Jacky estava sentada em frente ao filho à mesa da cozinha. – E como vai a simpática Maria Summers? George tentou reprimir uma careta. Tinha perdido Maria para outro homem. – Está namorando firme – respondeu. – Ah, é? Quem? – Não sei. Jacky grunhiu de frustração. – Não perguntou? – Claro que perguntei. Ela não quis dizer. – Por quê? George deu de ombros. – É um homem casado – afirmou Jacky, segura. – Mãe, você não tem como saber isso – retrucou George, mas teve a terrível suspeita de que ela poderia estar certa. – Em geral, as moças se gabam do homem com quem estão saindo. Quando ficam caladas, é porque estão com vergonha.
– Pode ser que haja outro motivo. – Qual, por exemplo? Na hora, ele não conseguiu pensar em nenhum. – Deve ser alguém do trabalho. Tomara que seu pai pastor não descubra. George pensou em outra possibilidade. – Talvez ele seja branco. – Casado e branco, aposto. Como é o assessor de imprensa, aquele tal Pierre Salinger? – Um cara educado, de 30 e poucos anos, meio acima do peso, que usa sempre roupas francesas de boa qualidade. Ele é casado e ouvi dizer que anda aprontando com a secretária, então não tenho certeza se tem tempo para outra namorada. – Pode ser que tenha, afinal ele é francês. George sorriu com ironia. – Você já conheceu algum francês? – Não, mas eles têm fama. – E os negros têm fama de preguiçosos. – Tem razão, eu não deveria falar assim. Cada um é de um jeito. – Foi o que você sempre me ensinou. George não estava prestando muita atenção na conversa. A notícia sobre os mísseis de Cuba fora mantida em segredo da população americana por uma semana, mas estava prestes a ser revelada. A semana tinha sido cheia de acalorados debates no pequeno grupo dos que sabiam, mas pouca coisa fora resolvida. Em retrospecto, George percebeu que, na primeira vez em que tinha escutado a notícia, não lhe dera a devida importância. Pensara, sobretudo, nas legislativas iminentes e no efeito sobre a campanha dos direitos civis. Por alguns instantes, chegara a saborear a ideia de uma retaliação americana. Só depois havia percebido a verdade: que os direitos civis não teriam mais importância e nenhuma outra eleição jamais iria acontecer se houvesse uma guerra nuclear. Jacky mudou de assunto: – O chefe de cozinha do clube onde eu trabalho tem uma filha linda. – É mesmo? – Cindy Bell. – Cindy é apelido de quê? Cinderela? – De Lucinda. Ela se formou este ano na Universidade de Georgetown. Georgetown era um bairro da capital, mas raros eram os membros da maioria negra da cidade que estudavam nessa prestigiosa universidade. – Ela é branca? – Não. – Então deve ser inteligente. – Muito. – É católica? – A Universidade de Georgetown era uma instituição jesuíta.
– Não há nada de errado em ser católico – disse Jacky em tom levemente desafiador. Apesar de frequentar a Igreja Evangélica Betel, era tolerante. – Católicos também acreditam em Deus. – Mas não em controle da natalidade. – Não sei se eu mesma acredito. – Como assim? Você não pode estar falando sério. – Se eu tivesse usado anticoncepcionais, não teria tido você. – Mas não pode querer negar às outras mulheres o direito de decidir! – Ah, deixe de ser tão combativo. Eu não quero proibir os anticoncepcionais. – Jacky abriu um sorriso afetuoso. – Só fico feliz por ter sido tão ignorante e descuidada aos 16 anos. Vou fazer um café – falou, levantando-se. A campainha tocou. – Pode ver quem é? George abriu a porta e deparou com uma moça negra bonita de 20 e poucos anos, vestida com uma calça Capri justa e um suéter folgado. Ela se espantou ao vê-lo. – Ué, desculpe. Achei que fosse a casa da Sra. Jakes. – E é. Estou de visita. – Meu pai me pediu para deixar isto aqui quando passasse. – Ela lhe entregou um livro chamado A nave dos loucos. Ele já tinha ouvido falar; era um sucesso de vendas. – Acho que papai pegou emprestado com a Sra. Jakes. – Obrigado – disse George, pegando o livro. – Quer entrar? – convidou, educado. A moça hesitou. Jacky apareceu na porta da cozinha. Como a casa não era muito grande, pôde ver dali quem estava lá fora. – Oi, Cindy. Eu estava falando de você agora mesmo. Entre, acabei de passar um café. – Está mesmo com um cheiro ótimo – respondeu Cindy, cruzando a soleira. – Mãe, podemos tomar café na sala? – pediu George. – Está quase na hora de o presidente falar. – Você não quer assistir à TV, quer? Sente-se e converse com Cindy. George abriu a porta da sala. – Você se importaria de assistir ao presidente? – perguntou à moça. – Ele vai dizer uma coisa importante. – Como você sabe? – Ajudei a escrever o discurso. – Nesse caso, tenho que assistir – disse ela. Eles entraram na sala. Lev Peshkov, seu avô, tinha comprado e mobiliado aquela casa para Jacky e George em 1949. Depois disso, ela havia orgulhosamente recusado qualquer outra ajuda a não ser os custos da escola e da universidade do filho. Com seu salário modesto, não sobrava dinheiro para redecorar, de modo que, em treze anos, a sala praticamente não mudara. George gostava dela do jeito que era: estofados franjados, um tapete oriental, um louceiro. Antiquada, mas aconchegante.
A principal inovação era o televisor RCA Victor. George ligou o aparelho, e eles aguardaram a tela verde esquentar. – Sua mãe trabalha no Clube Feminino Universitário com meu pai, não é? – Isso. – Então ele não precisava que eu viesse entregar o livro. Poderia ter devolvido a ela amanhã no trabalho. – É. – Armaram para cima da gente. – Eu sei. Ela riu. – Ah, e daí? George gostou dela por isso. Jacky trouxe uma bandeja. Quando terminou de servir o café, o presidente Kennedy já tinha aparecido na tela em preto e branco e dito: “Boa noite, cidadãs e cidadãos.” Estava sentado diante de uma mesa, e na sua frente havia um pequeno púlpito com dois microfones. Usava um terno escuro, camisa branca e gravata fininha. George sabia que as marcas da terrível tensão em seu rosto tinham sido disfarçadas pela maquiagem da TV. Quando Kennedy falou que Cuba agora tinha “capacidade de conduzir um ataque nuclear contra o hemisfério ocidental”, Jacky deu um arquejo e Cindy exclamou: – Ai, meu Deus do céu! Com seu sotaque de Boston, Kennedy foi lendo as páginas sobre o púlpito; sua pronúncia o fazia engolir algumas das letras. O tom era neutro, quase entediado, mas as palavras eram eletrizantes. “Qualquer um desses mísseis, em suma, tem capacidade para atingir a capital Washington...” Jacky soltou um gritinho. “... o Canal do Panamá, o Cabo Canaveral, a Cidade do México...” – O que vamos fazer? – indagou Cindy. – Esperem – disse George. – Vocês vão ver. – Como isso foi acontecer? – perguntou Jacky. – Os soviéticos são dissimulados – respondeu ele. “Não temos desejo algum de dominar ou conquistar qualquer outra nação, nem de impor nosso sistema de governo à sua população”, afirmou Kennedy. A essa altura, Jacky normalmente teria feito algum comentário sarcástico sobre a invasão da Baía dos Porcos, mas agora não estava mais ligando para picuinhas políticas. A câmera se aproximou para um close enquanto o presidente dizia: “Para deter essa escalada ofensiva, será implementada uma rígida quarentena de todo o material militar ofensivo transportado para Cuba.” – De que adianta isso? – indagou Jacky. – Os mísseis já estão lá... ele acabou de dizer! De modo lento e pausado, o presidente prosseguiu: “A política deste país será considerar
qualquer míssil nuclear disparado de Cuba contra qualquer nação do hemisfério ocidental um ataque da União Soviética contra os Estados Unidos, que exigirá uma reação retaliatória contra a União Soviética.” – Ai, meu Deus do céu! – repetiu Cindy. – Quer dizer que, se Cuba disparar um único míssil, vai ser uma guerra nuclear. – Isso mesmo – disse George, que havia participado das reuniões nas quais essa decisão fora discutida. Assim que o presidente disse “Obrigado e boa noite”, Jacky desligou a TV e se virou para o filho. – O que vai acontecer conosco? Ele queria muito reconfortá-la, fazê-la se sentir segura, mas não podia. – Não sei, mãe. – Até eu consigo ver que essa quarentena não faz a menor diferença – disse Cindy. – É só uma preliminar. – E qual é o próximo passo? – Não sabemos. – George, me diga a verdade. Vai haver uma guerra? – perguntou Jacky. Ele hesitou. Armas nucleares estavam sendo carregadas em jatos e espalhadas pelo país para garantir que pelo menos algumas sobrevivessem a um primeiro ataque soviético. O plano de invasão de Cuba estava sendo esmiuçado, e o Departamento de Estado já selecionava candidatos para liderar o governo pró-Estados Unidos que assumiria posteriormente o comando de Cuba. O Comando Aéreo Estratégico tinha aumentado seu status para DEFCON3, Condição de Defesa 3, o que possibilitava iniciar um ataque nuclear em quinze minutos. Pesando todos os fatores, qual seria o desfecho mais provável daquilo tudo? Foi com um peso no coração que George respondeu: – Sim, mãe. Eu acho que vai haver guerra.
No fim das contas, o Presidium ordenou a todos os navios que estivessem transportando mísseis soviéticos para Cuba que dessem meia-volta e retornassem à União Soviética. Kruschev avaliou que perderia pouca coisa com essa manobra, e Dimka concordava. Cuba agora tinha armas nucleares; pouco importava quantas fossem. A União Soviética evitaria um confronto em alto-mar, alegaria estar tentando contornar a crise, e mesmo assim continuaria tendo uma base nuclear a 150 quilômetros dos Estados Unidos. Todos sabiam que a história não terminaria ali. As duas superpotências ainda não tinham abordado a verdadeira questão: o que fazer com as armas nucleares que já estavam em Cuba. Todas as alternativas continuavam disponíveis para Kennedy e, até onde Dimka podia constatar, a maioria delas conduzia à guerra.
Kruschev decidiu não ir para casa nessa noite. Era perigoso demais estar longe, nem que fosse a poucos minutos de carro: se uma guerra estourasse, ele precisava estar ali, pronto para tomar decisões em questão de segundos. Ao lado de sua sala elegante havia um pequeno cômodo com um sofá confortável. Foi lá que o premiê se deitou, ainda de roupa. A maioria dos integrantes do Presidium tomou a mesma decisão, e os líderes do segundo país mais poderoso do mundo se acomodaram para um sono agitado em suas respectivas salas. Mais adiante no corredor, Dimka tinha um pequeno cubículo no qual não havia sofá, apenas uma cadeira dura, uma escrivaninha funcional e um arquivo. Estava tentando entender onde seria o lugar menos desconfortável para repousar a cabeça quando alguém bateu na porta e Natalya entrou, trazendo um aroma leve diferente de qualquer perfume soviético. Ele percebeu que ela fizera bem ao escolher trajes casuais, pois todos teriam que dormir de roupa. – Gostei do seu suéter – comentou. – É um Sloppy Joe – disse ela, usando o termo em inglês. – O que isso quer dizer? – Não sei, mas gosto da sonoridade. Ele riu. – Estava aqui tentando decidir onde dormir. – Eu também. – Pensando bem, não tenho certeza de que vou conseguir dormir. – Sabendo que pode nunca mais acordar, você quer dizer? – Exatamente. – Estou sentindo a mesma coisa. Ele pensou por alguns segundos. Mesmo que passasse a noite em claro, angustiado, seria bom achar um lugar onde pudesse ficar confortável. – Isto aqui é um palácio e está vazio – falou. Hesitou antes de prosseguir: – Quer explorar por aí? Não soube muito bem por que disse isso. Era o tipo de coisa que Valentin, seu amigo mulherengo, talvez dissesse. – Tudo bem – respondeu Natalya. Dimka pegou o sobretudo para usar como coberta. Os espaçosos quartos e saletas do palácio tinham sido divididos de maneira deselegante em salas para burocratas e datilógrafas, e equipados com mobília barata feita de pinho e plástico. Algumas das salas maiores tinham poltronas estofadas para os funcionários mais importantes, mas nada em que se pudesse dormir. Dimka começou a pensar em jeitos de fazer uma cama no chão. Então, bem no final da ala, os dois passaram por um corredor abarrotado de baldes e esfregões e chegaram a um salão cheio de mobília guardada. Não havia calefação, e seu hálito se condensou em um vapor branco. As janelas grandes
estavam cobertas por uma camada de gelo. As arandelas e os lustres folheados a ouro tinham suportes para velas, todos vazios. Uma luz débil provinha de duas lâmpadas nuas penduradas no teto decorado com pinturas. Os móveis empilhados pareciam estar ali desde a época da Revolução. Havia mesas lascadas de pés finos, cadeiras com estofado de brocado puído e estantes vazias de madeira esculpida: os tesouros dos czares transformados em quinquilharia. A mobília apodrecia naquele salão porque era ancien régime demais para ser usada nas salas dos comissários, embora Dimka avaliasse que deviam ser peças capazes de render fortunas nos leilões de antiguidades do Ocidente. E havia uma cama de baldaquino. As cortinas estavam todas empoeiradas, mas a colcha azul desbotada parecia intacta, e havia até um colchão e travesseiros. – Bem, uma cama nós temos – comentou Dimka. – Talvez precisamos dividir – rebateu Natalya. A ideia havia lhe passado pela cabeça, mas ele a descartara. Em suas fantasias, moças bonitas sugeriam dividir a cama com ele, mas nunca acontecia na vida real. Até agora. Mas será que ele queria? Não estava casado com Nina, mas sem dúvida ela esperava que ele lhe fosse fiel, e ele certamente esperava o mesmo dela. Por outro lado, Nina não estava ali, e Natalya, sim. Feito um bobo, perguntou: – Está sugerindo dormirmos juntos? – Só por causa do frio. Posso confiar em você, não posso? – Claro. – Então estava tudo bem, supôs. Natalya retirou a colcha velha, levantando tanta poeira que a fez espirrar. Os lençóis da cama haviam amarelado com o tempo, mas pareciam intactos. – Traças não gostam de algodão – comentou ela. – Essa eu não sabia. Ela tirou os sapatos. De calça jeans e suéter, entrou debaixo dos lençóis e estremeceu. – Venha. Deixe de ser tímido. Dimka a cobriu com o sobretudo, então desamarrou os cadarços e tirou os sapatos. Aquilo era estranho, porém empolgante. Natalya queria dormir com ele, só que sem transar. Nina jamais acreditaria. Mas ele precisava dormir em algum lugar. Tirou a gravata e entrou na cama. Os lençóis estavam gelados. Envolveu Natalya com os dois braços. Ela pousou a cabeça sobre seu ombro e pressionou o corpo contra o seu. Seu volumoso suéter e o terno que ele usava não lhe permitiram sentir os contornos de seu corpo, mas mesmo assim ele ficou excitado. Se ela sentiu, não teve reação alguma. Em poucos minutos, os dois pararam de tremer e se sentiram mais aquecidos. Dimka tinha
o rosto enterrado nos cabelos de Natalya, fartos e ondulados, que recendiam a sabonete de limão. Suas mãos a tocavam nas costas, mas ele não conseguia sentir a textura da pele através do suéter grosso. Sentia seu hálito no pescoço. O ritmo da respiração dela se modificou, tornando-se regular e raso. Ele beijou o topo de sua cabeça, mas ela não reagiu. Não conseguia entendê-la. Era apenas uma assessora igual a ele e só uns três ou quatro anos mais velha, mas dirigia um Mercedes dos anos 1950 lindamente preservado. Em geral usava as roupas desenxabidas típicas do Kremlin, mas seu perfume era caro e importado. Sua simpatia com ele beirava o flerte, mas depois ela voltava para casa e fazia o jantar do marido. Havia dado um jeito de fazer Dimka se deitar na cama com ela, mas depois pegara no sono. Ele teve certeza de que não conseguiria dormir, ali deitado abraçado a uma moça quentinha. Mas conseguiu. Quando acordou, ainda estava escuro lá fora. – Que horas são? – balbuciou Natalya. Os dois continuavam abraçados. Ele esticou o pescoço para olhar o relógio atrás do ombro esquerdo dela. – Seis e meia. – E continuamos vivos. – Os americanos não nos bombardearam. – Ainda não. – É melhor nos levantarmos – disse Dimka, mas se arrependeu na mesma hora. Kruschev ainda não devia estar acordado. Mesmo que estivesse, Dimka não precisava encerrar prematuramente aquele momento delicioso. Estava confuso, mas feliz. Por que fora sugerir que se levantassem? Mas ela não quis. – Só mais um minutinho – falou. Agradou-lhe pensar que ela gostava de ficar deitada nos seus braços. Ela então lhe deu um beijo no pescoço. Foi o toque mais leve possível dos lábios na pele, como se uma traça tivesse voado das antigas cortinas e roçado as asas ali; mas ele não esperava por isso. Ela o havia beijado. Ele acariciou seus cabelos. Natalya inclinou a cabeça para trás e o encarou com a boca entreaberta, os lábios carnudos um pouco separados e um leve sorriso, como diante de uma agradável surpresa. Dimka não era nenhum especialista em mulheres, mas nem mesmo ele podia confundir um convite daqueles. Mesmo assim, hesitou em beijá-la. Mas ela falou: – Provavelmente seremos bombardeado hoje, até virarmos pó. Então Dimka a beijou.
O beijo pegou fogo em segundos. Ela mordeu seus lábios e enfiou a língua em sua boca. Ele a virou de costas e pôs a mão por baixo do suéter largo. Ela abriu o sutiã com um movimento rápido; tinha os seios deliciosamente pequeninos e firmes, com mamilos grandes e pontudos que ele sentiu endurecer ao toque de seus dedos. Quando os chupou, ela arquejou de prazer. Dimka tentou tirar sua calça jeans, mas ela teve outra ideia. Empurrou-o de costas e, com gestos febris, abriu sua braguilha. Ele teve medo de gozar na hora – coisa que, segundo Nina, ocorria com muitos homens –, mas isso não aconteceu. Natalya tirou seu pau da cueca, acariciou-o com as duas mãos, passou-o pelo rosto e o beijou. Em seguida o pôs na boca. Quando ele sentiu que ia explodir, empurrou a cabeça dela para longe e tentou se afastar; Nina preferia assim. Mas Natalya emitiu um ruído de protesto e começou a esfregar e chupar com mais força ainda, até ele se descontrolar e gozar em sua boca. Pouco depois, ela lhe deu um beijo. Ele sentiu o gosto do próprio sêmen. Será que aquilo era estranho? Pareceu-lhe apenas carinhoso. Ela então tirou a calça e a calcinha, e ele entendeu que havia chegado sua vez de lhe dar prazer. Felizmente, Nina lhe ensinara o que fazer. Os pelos de Natalya eram tão encaracolados e abundantes quanto seus cabelos. Ele enterrou o rosto neles, ansioso por retribuir o deleite que ela havia lhe proporcionado. Com as mãos na sua cabeça, ela o guiou, indicando com uma leve pressão quando seus beijos deveriam ser mais suaves ou mais fortes, e movendo os quadris para cima ou para baixo de modo a lhe mostrar onde concentrar sua atenção. Era apenas a segunda mulher em quem ele fazia aquilo, e o sabor e o cheiro dela o embriagaram. Com Nina, aquela prática era só uma preliminar, mas depois de um tempo surpreendentemente curto Natalya gritou, apertou a cabeça dele com força e então, como se o prazer fosse demais para suportar, empurrou-o para longe. Ficaram deitados lado a lado, recuperando o fôlego. Aquela experiência tinha sido totalmente nova para Dimka, e ele comentou, pensativo: – Essa história toda de sexo é mais complicada do que eu pensava. Para sua surpresa, isso fez Natalya rir com vontade. – O que foi que eu disse? – perguntou. Ela riu mais ainda, e tudo o que conseguiu responder foi: – Ah, Dimka, eu adoro você.
La Isabela era uma cidade fantasma, constatou Tanya. Outrora um próspero porto cubano, fora duramente atingida pelo embargo comercial de Eisenhower. Cercada por salinas e manguezais, ficava a muitos quilômetros de qualquer outro lugar. Cabras magras vagavam pelas ruas. O porto ainda abrigava alguns pesqueiros mambembes e o Alexandrovsk, cargueiro
soviético de 5.400 toneladas abarrotado com ogivas nucleares até as amuradas. O destino original do navio era Mariel. Depois de Kennedy anunciar o bloqueio naval, a maioria das embarcações soviéticas tinha dado meia-volta, mas algumas, as que estavam a poucas horas do destino, tinham recebido ordens para ir correndo até o porto cubano mais próximo. Tanya e Paz observaram o navio se aproximar lentamente do cais de concreto debaixo de uma tempestade. As peças de artilharia antiaérea no convés estavam camufladas sob rolos de corda. Ela estava em pânico. Não tinha a menor ideia do que iria acontecer. Nem mesmo todos os esforços de seu irmão tinham conseguido impedir que o segredo vazasse antes das eleições legislativas americanas, e a situação complicada de Dimka era a menor das suas preocupações. Estava claro que o bloqueio naval era apenas um começo. Agora, Kennedy tinha de se mostrar forte. Com Kennedy sendo forte e os cubanos defendendo sua preciosa dignidad, tudo podia acontecer, de uma invasão americana a um holocausto nuclear de proporções mundiais. Tanya e Paz agora estavam mais íntimos. Tinham conversado sobre as respectivas infâncias, famílias e os relacionamentos amorosos. Tocavam-se com frequência, riam muito, mas se refreavam antes de iniciar um romance. Tanya sentia-se tentada, mas resistia. A ideia de transar com um homem só porque ele era bonito lhe parecia errada. Gostava de Paz – apesar da sua dignidad –, mas não o amava. Já tinha beijado homens que não amava, principalmente na universidade, mas não chegara a transar com eles. Tinha ido para a cama com um único homem, e por amor, ou pelo menos foi o que pensou na época. Mas talvez acabasse mesmo dormindo com Paz, nem que fosse para ter alguém que a abraçasse na hora em que as bombas caíssem. O maior dos armazéns do cais estava incendiado. – Como será que isso aconteceu? – perguntou ela, apontando. – A CIA tocou fogo – respondeu Paz. – Houve vários ataques terroristas aqui. Tanya olhou em volta. As construções que margeavam o porto estavam vazias e caindo aos pedaços. A maioria das casas eram barracos de madeira de um andar só. A chuva empoçava nas ruas de terra batida. Os americanos poderiam explodir a cidade inteira sem causar grandes danos ao regime de Fidel. – Por quê? – indagou. Paz deu de ombros. – Como fica na ponta da península, é um alvo fácil. Eles vêm da Flórida de lancha, atracam sem ninguém ver, explodem alguma coisa, matam um ou dois inocentes e voltam para os Estados Unidos. Fucking cowards! – arrematou, em inglês: covardes de merda. Será que todos os governos eram iguais?, perguntou-se Tanya. Os irmãos Kennedy falavam em liberdade e democracia, mas despachavam gangues armadas até o outro lado do estreito para aterrorizar a população cubana. Os comunistas soviéticos falavam em libertar o
proletariado, mas prendiam ou assassinavam quem discordasse deles, e tinham exilado Vasili na Sibéria por protestar. Será que em algum lugar do mundo existia um regime honesto? – Vamos – falou. – Temos muito chão até voltar a Havana e preciso avisar a Dimka que o navio dele chegou bem. – Moscou decidira que o Alexandrovsk estava próximo o suficiente para chegar ao porto, mas Dimka estava ansioso à espera de uma confirmação. Embarcaram no Buick de Paz e saíram da cidade. A estrada era margeada de ambos os lados por altos canaviais. Abutres voavam à caça dos gordos ratos das plantações. Ao longe, a alta chaminé de uma usina de açúcar apontava para o céu feito um míssil. A paisagem chapada do centro de Cuba era entrecortada por ferrovias de um trilho só, construídas para transportar a cana das fazendas até as usinas. Nos trechos não cultivados, a floresta tropical dominava tudo: flamboyants, jacarandás, imensas palmeiras-imperiais, ou ainda arbustos ásperos que o gado pastava. As esguias garças brancas que seguiam o gado eram floreios na paisagem castanha monocromática. Na zona rural de Cuba, o transporte ainda se fazia sobretudo por carroças puxadas a cavalo, mas conforme se aproximaram de Havana a estrada se encheu de caminhões e ônibus militares conduzindo os reservistas para seus quartéis. Fidel tinha posto o país em alerta máximo de combate; Cuba estava em pé de guerra. Quando o Buick de Paz passava em alta velocidade, os homens acenavam e gritavam: Patria o muerte! Cuba sí, yanqui no! Nos arredores da capital, Tanya viu que um novo cartaz havia surgido da noite para o dia e agora cobria todos os muros. Era simples, em preto e branco, e exibia a mão de uma pessoa segurando uma arma e as palavras A LAS ARMAS. Pensou que Fidel realmente entendia de propaganda, ao contrário dos velhos do Kremlin, cujo conceito de slogan era: “Implementem as resoluções do XX Congresso do Partido!” Como havia redigido e cifrado a mensagem mais cedo, agora só precisava completá-la com o horário exato em que o Alexandrovsk havia atracado no porto. Levou a mensagem até a embaixada soviética e entregou-a ao funcionário de comunicações da KGB, que conhecia bem. Dimka ficaria aliviado, mas ela continuava com medo. Seria mesmo uma boa notícia Cuba ter recebido mais um carregamento de armas nucleares? O povo cubano – e a própria Tanya – não estaria mais seguro sem arma nenhuma? – Você tem mais algum compromisso hoje? – perguntou a Paz ao sair da embaixada. – Meu compromisso é fazer a ponte com você. – Mas nesta crise... – Nesta crise, nada é mais importante do que uma comunicação clara com nossos aliados soviéticos. – Então vamos passear juntos no Malecón. Foram até o passeio à beira-mar. Paz estacionou no Hotel Nacional. Soldados posicionavam uma peça de artilharia antiaérea em frente ao famoso hotel. Eles saltaram do carro e puseram-se a percorrer o passeio. Um vento norte encrespava o mar e formava ondas altas, que estouravam contra a mureta de pedra e projetavam no ar
explosões de espuma que molhavam a calçada como se fosse chuva. Era um lugar popular, mas nesse dia estava mais cheio do que o normal e o ambiente não era descontraído. Reunidas em pequenos grupos, as pessoas às vezes conversavam, mas em geral permaneciam caladas. Não paqueravam nem faziam piadas ou desfilavam suas melhores roupas. Todas olhavam na mesma direção: para o norte, para os Estados Unidos. Atentas à chegada dos yanquis. Tanya e Paz se demoraram alguns instantes observando os outros. No fundo de seu coração, ela sentia que a invasão era inevitável. Destróieres chegariam rasgando as ondas, submarinos viriam à tona a poucos metros da costa, e os aviões cinza pintados com estrelas azuis e brancas surgiriam das nuvens, carregados com bombas para lançar sobre a população de Cuba e seus amigos soviéticos. Por fim, Tanya segurou a mão de Paz. Ele a apertou delicadamente. Ela ergueu o rosto e encarou seus profundos olhos castanhos. – Eu acho que nós vamos morrer – falou, calma. – É – concordou ele. – Quer ir para a cama comigo antes? – Quero. – Vamos para o meu apartamento? – Vamos. Voltaram para o carro e foram até uma rua estreita na parte antiga da cidade, próxima da catedral, onde ela ocupava o andar de cima de um prédio colonial. O primeiro e único amante de Tanya chamava-se Petr Iloyan, um professor da sua universidade. Ele venerava seu corpo jovem, admirava seus seios, tocava sua pele e beijava seus cabelos como se nunca tivesse visto nada tão maravilhoso. Embora Paz tivesse a mesma idade de Petr, Tanya logo percebeu que o sexo com ele seria diferente: o centro das atenções era o corpo dele. O general se despiu devagar, como se a provocasse, e depois ficou em pé na sua frente, parado, dando-lhe tempo para admirar sua pele perfeita e as curvas de seus músculos. Tanya gostou de ficar sentada na beira da cama admirando aquele homem. A exibição parecia excitá-lo, pois seu pênis já estava a meio mastro, grosso de desejo; Tanya mal podia esperar para tocá-lo. Petr tinha sido um amante paciente, delicado. Conseguia provocar nela uma antecipação febril, e em seguida se conter para provocá-la ainda mais. Mudava de posição várias vezes, pondo-a por cima, ajoelhando-se por trás dela, depois fazendo-a montar nele. Paz não era violento, mas era vigoroso, e Tanya se entregou à excitação e ao prazer. Depois do sexo, ela preparou ovos e fez um café. Paz ligou a TV e juntos assistiram ao discurso de Fidel enquanto comiam. Fidel Castro estava sentado à frente da bandeira nacional de Cuba, cujas vivas listras azuis e brancas pareciam pretas e brancas na imagem monocromática do televisor. Como sempre, usava uma roupa de combate cáqui, e o único indício de patente era uma estrela na ombreira. Tanya nunca o tinha visto em trajes civis, tampouco usando aqueles uniformes pomposos e
repletos de medalhas prezados pelos líderes comunistas de outras nações. Sentiu uma onda de otimismo. Fidel não era bobo: sabia que não conseguiria derrotar os Estados Unidos em uma guerra, nem mesmo com o apoio da União Soviética. Com certeza iria inventar algum gesto dramático de reconciliação, alguma iniciativa que pudesse transformar a situação e desarmar aquela bomba-relógio. Tinha uma voz aguda, esganiçada, mas falava com uma paixão arrebatadora. Embora fosse óbvio que estava dentro de um estúdio, a barba cerrada lhe dava o aspecto de um messias a pregar no deserto. Duas sobrancelhas pretas expressivas se agitavam na testa larga. Ele gesticulava com as mãos grandes, e às vezes erguia um indicador, como um professor de escola para proibir qualquer desobediência; muitas vezes cerrava o punho. De vez em quando, segurava os braços da cadeira como para se impedir de levantar voo qual um foguete. Parecia não ter roteiro, nem sequer anotações. Sua expressão exibia indignação, orgulho, desprezo, raiva, mas jamais dúvida. Fidel Castro vivia em um universo de certezas. Ele atacou ponto a ponto o discurso televisivo de Kennedy, transmitido ao vivo pelo rádio. Desdenhou o apelo feito pelo presidente americano ao “povo aprisionado de Cuba”. “Nós não somos soberanos só porque os yanquis permitem”, falou, com desprezo. No entanto, não disse nada sobre a União Soviética nem sobre armas nucleares. O discurso durou uma hora e meia. Foi um espetáculo de magnetismo digno de Churchill: a corajosa e pequena Cuba desafiaria os grandes e truculentos Estados Unidos e jamais se renderia. Aquilo devia ter levantado o moral do povo cubano, mas, tirando isso, tudo ficara na mesma. Tanya sentiu uma decepção profunda e seu medo aumentou. Fidel nem sequer tentara impedir uma guerra. No fim, ele bradou: “Pátria ou morte, vamos vencer!” Então pulou da cadeira e saiu correndo, como se não tivesse nenhum segundo a perder na luta para salvar Cuba. Tanya olhou para Paz. Os olhos do general estavam marejados. Ela o beijou e os dois transaram outra vez, no sofá, em frente ao chuvisco da tela da TV . Dessa vez foi mais lento e mais prazeroso. Ela o tratou da mesma forma que Petr costumava tratá-la. Não era difícil adorar aquele corpo, e ele sem dúvida gostava de ser adorado. Ela apertou os músculos de seus braços, beijou-lhe os mamilos e enroscou os dedos nos cachos de seus cabelos. – Como você é lindo – murmurou, chupando o lóbulo de sua orelha. Depois do sexo, quando estavam deitados dividindo um charuto, ouviram barulhos vindos de fora. Tanya abriu a porta que dava para a varanda. A cidade se acalmara enquanto Fidel falava na TV , mas agora as pessoas começavam a sair às ruas estreitas. A noite havia caído, e alguns carregavam velas e tochas. O instinto jornalístico de Tanya tornou a despertar. – Preciso ir lá fora – disse ela para Paz. – Isso que está acontecendo rende uma matéria e tanto. – Vou com você. Vestiram-se e saíram. Apesar das ruas molhadas, a chuva havia estiado. Cada vez mais
pessoas iam aparecendo. O clima era de Carnaval. Todos gritavam vivas e slogans, e muitos entoavam o hino nacional, “La Bayamesa”. A melodia não tinha nada de latina e soava mais como uma canção de bar alemã, mas as pessoas cantavam cada palavra com total sinceridade. Viver acorrentado é viver Na desonra e ignomínia. Ouçam o chamado do berrante: Depressa, ó valentes, às armas! Enquanto os dois marchavam pelos becos da cidade antiga junto com a multidão, Tanya reparou que muitos dos homens estavam armados. Na falta de armas de fogo, seguravam ferramentas de jardim e facões ou traziam no cinto facas e cutelos de cozinha, como se estivessem indo combater os americanos corpo a corpo no Malecón. Lembrou que um B-52 Stratofortress da Força Aérea americana transportava mais de trinta mil quilos de explosivos. Que bobagem! Coitados de vocês!, pensou com amargura. De que acham que suas facas vão adiantar contra uma coisa assim?
CAPÍTULO DEZESSETE
George nunca havia se sentido tão próximo da morte quanto na Sala do Gabinete da Casa Branca naquela quarta-feira, 24 de outubro. A reunião matinal começava às dez, e ele pensava que a guerra fosse estourar antes das onze. Tecnicamente falando, era uma reunião do Comitê Executivo do Conselho de Segurança Nacional, chamado de ComEx para encurtar. Kennedy convocava todos os que pensava poderem ajudar na crise. Seu irmão Bobby sempre participava. Os conselheiros estavam sentados em cadeiras de couro em volta da mesa comprida, e seus assessores, acomodados em cadeiras parecidas encostadas nas paredes. A tensão na sala era sufocante. O status de alerta do Comando Aéreo Estratégico tinha subido para DEFCON-2, apenas um nível abaixo de uma guerra iminente. Todos os bombardeiros da Força Aérea estavam a postos. Muitos deles, carregados de armas nucleares, não pousavam mais e patrulhavam constantemente o Canadá, a Groenlândia e a Turquia, o mais perto possível das fronteiras da URSS. Cada bombardeiro tinha um alvo soviético específico. Se uma guerra eclodisse, os americanos dariam início a um ataque nuclear que arrasaria todas as cidades importantes da União Soviética. Milhões de pessoas morreriam. A Rússia demoraria cem anos para se recuperar. E os soviéticos tinham um plano semelhante em relação aos Estados Unidos. O bloqueio naval estava marcado para começar às dez. A partir dessa hora, qualquer embarcação soviética a menos de 800 quilômetros de Cuba poderia ser alvejada. A primeira interceptação de um navio soviético carregado de mísseis pelo USS Essex estava prevista para ocorrer entre dez e meia e onze horas. Às onze, todos eles já poderiam estar mortos. John McCone, diretor da CIA, abriu a reunião citando os nomes de todas as embarcações soviéticas a caminho de Cuba. Seu tom de voz monocórdio deixou todo mundo impaciente e só fez aumentar a tensão. Que navios soviéticos a Marinha deveria interceptar primeiro? O que iria acontecer depois? Será que os soviéticos deixariam seus navios serem inspecionados? Será que disparariam contra navios americanos? Nesse caso, o que a Marinha faria? Enquanto o grupo ali reunido tentava adivinhar o que estariam pensando seus equivalentes em Moscou, um assessor trouxe um bilhete para McCone. Elegante sessentão de cabelos brancos, McCone era um executivo e George desconfiava que os profissionais que faziam carreira na CIA não lhe revelavam tudo o que faziam. McCone leu o bilhete através dos óculos sem armação e pareceu intrigado com o conteúdo. Demorou algum tempo para falar: – Presidente, o Escritório de Inteligência Naval acaba de nos informar que todos os seis
navios soviéticos atualmente em águas cubanas pararam ou reverteram o curso. Que droga significa isso? pensou George. – Como assim, em águas cubanas? – perguntou Dean Rusk, o secretário de Estado careca e de nariz achatado. McCone não soube explicar. – A maioria desses navios está indo no sentido oposto, de Cuba para a União Soviética... – disse Bob McNamara, presidente da Ford que Kennedy havia nomeado secretário de Defesa. – Por que não procuramos saber? – interrompeu o presidente, irritado. – Estamos falando em navios que estão saindo de Cuba ou entrando? – Vou descobrir – retrucou McCone, e saiu da sala. A tensão aumentou mais um pouco. George sempre havia pensado que as reuniões de crise na Casa Branca seriam um festival de profissionalismo, com todos dando informações precisas ao presidente para que ele pudesse tomar uma decisão sensata. No entanto, apesar de aquela ser a maior crise que já haviam enfrentado, imperavam a confusão e os mal-entendidos. Isso deixava George mais assustado ainda. Ao voltar, McCone falou: – Os navios estavam todos seguindo para oeste, em direção a Cuba. Ele citou o nome das seis embarcações. McNamara tomou a palavra. Tinha 46 anos, e a expressão “Menino-Prodígio” fora cunhada para ele depois que conseguira transformar em lucro os prejuízos da Ford Motor Company. O presidente confiava mais nele do que em qualquer outra pessoa presente naquela sala, à exceção de Bobby. Então, de cabeça, McNamara recitou a posição de cada um dos seis navios. A maioria ainda estava a centenas de quilômetros de Cuba. O presidente ficou impaciente: – O que eles disseram que estão fazendo com esses navios, John? – Todos pararam ou reverteram o curso – respondeu McCone. – Esses são todos os navios soviéticos, ou só alguns? – Só alguns. Ao todo são 24. Mais uma vez, McNamara os interrompeu com a informação mais importante: – Parece que esses são os navios mais próximos da barreira da quarentena. – Parece que os soviéticos estão recuando da beira do precipício – sussurrou George para Skip Dickerson, sentado ao seu lado. – Espero que você tenha razão – murmurou Skip. – Não estamos planejando interceptar nenhum desses navios, estamos? – perguntou o presidente. – Não estamos planejando interceptar nenhum navio que não esteja indo para Cuba. O chefe do Estado-Maior Conjunto, general Maxwell Taylor, pegou um telefone e disse: – Quero falar com George Anderson.
O almirante Anderson era o chefe de operações navais e o responsável pelo bloqueio. Depois de alguns instantes, Taylor começou a falar baixinho. Houve um silêncio. Todos tentavam absorver a notícia e entender o que ela significava. Será que os soviéticos estavam desistindo? – Precisamos verificar antes – disse o presidente. – Como podemos descobrir que seis navios estão revertendo o curso ao mesmo tempo? General, o que a Marinha tem a dizer sobre essa informação? O general Taylor ergueu os olhos e respondeu: – Três dos navios com certeza estão dando meia-volta. – Entre em contato com o Essex e mande aguardarem uma hora. Precisamos ser rápidos, porque eles vão interceptar entre dez e meia e onze horas. Todos na sala conferiram seus relógios. Eram 10h32. George olhou de relance para a expressão de Bobby: seu chefe parecia um condenado à morte que acabara de ser agraciado com o perdão. A crise imediata havia terminado, mas nos minutos seguintes George se deu conta de que nada fora solucionado. Embora os soviéticos estivessem obviamente tomando providências para evitar um confronto no mar, seus mísseis nucleares continuavam em Cuba. Os ponteiros do relógio tinham sido atrasados uma hora, mas continuavam a avançar. O ComEx então falou sobre a Alemanha. Kennedy temia que Kruschev talvez anunciasse um bloqueio a Berlim Ocidental como retaliação ao bloqueio naval americano a Cuba. No entanto, não havia nada que eles pudessem fazer em relação a isso. A reunião se dispersou. George não precisava estar presente no compromisso seguinte de Bobby. Saiu junto com Skip Dickerson, que perguntou: – Como vai sua amiga Maria? – Vai bem, eu acho. – Passei na assessoria ontem. Ela ligou para avisar que está doente. George sentiu um aperto no coração. Já havia desistido por completo de qualquer romance com Maria, mas mesmo assim a notícia de que ela estava doente lhe causou pânico. – Eu não sabia. – Não tenho nada com isso, George, mas ela é uma moça bacana e acho que alguém talvez devesse ir ver como ela está. George apertou de leve o braço do amigo. – Obrigado por me avisar. Você é um bom amigo. Funcionários da Casa Branca não mandavam avisar que estavam doentes no meio da maior crise da Guerra Fria, pensou ele, a menos que fosse alguma coisa grave. Ficou mais aflito ainda. Foi depressa até a assessoria. A cadeira de Maria estava vazia. Nelly Fordham, simpática secretária que ocupava a mesa ao lado, informou:
– Maria está passando mal. – Fiquei sabendo. Ela disse o que é? – Não. George franziu a testa. – Será que consigo tirar uma horinha para ir visitá-la? – Seria ótimo – falou Nelly. – Também estou preocupada. Ele olhou para o relógio. Tinha quase certeza de que Bobby não precisaria dele até depois do almoço. – Acho que dá tempo. Ela mora em Georgetown, não é? – Isso, mas se mudou de onde estava antes. – Por quê? – Disse que as colegas de apartamento eram enxeridas demais. Fazia sentido, pensou George. Outras moças ficariam desesperadas para descobrir a identidade de um amante secreto. Maria estava tão decidida a guardar segredo que tinha mudado de casa; isso indicava que seu envolvimento com o tal sujeito era mesmo sério. Nelly estava folheando o fichário giratório. – Vou anotar o endereço para você. – Obrigado. Ela lhe entregou um pedaço de papel e perguntou: – Você é Georgy Jakes, não é? – Sou, sim. – Ele sorriu. – Mas faz tempo que ninguém me chama de Georgy. – Eu conhecia o senador Peshkov. A menção a Greg quase certamente significava que ela sabia que ele era pai de George. – É mesmo? Conhecia como? – Nós namoramos, para falar a verdade. Só que não deu em nada. Como ele está? – Muito bem. Almoço com ele uma vez por mês, mais ou menos. – Ele nunca se casou, não é? – Ainda não. – E já deve ter mais de 40. – Acho que ele tem alguém. – Ah, fique tranquilo, não estou atrás dele. Já tomei essa decisão faz tempo. Mas mesmo assim quero o seu bem. – Direi isso a ele. Agora vou pegar um táxi e ver como está Maria. – Obrigada, Georgy... ou melhor, George. Ele saiu apressado. Nelly era uma mulher bonita e tinha bom coração. Por que Greg não havia se casado com ela? Talvez ser solteiro lhe conviesse. – O senhor trabalha na Casa Branca? – perguntou o taxista. – Sim, com Bobby Kennedy. Sou advogado. – Não brinca?! – O motorista não se deu ao trabalho de esconder a surpresa com o fato de
um negro ser advogado e ter um cargo importante. – Pois diga ao Bobby que a gente deveria bombardear Cuba até ela virar pó. Sim, senhor. Bombardear todos eles até virarem pó. – O senhor sabe qual o tamanho de Cuba de uma ponta a outra? – Que papo é esse, um programa de calouros? – perguntou o homem, contrariado. George deu de ombros e não falou mais nada. Nos últimos tempos, vinha evitando debates políticos com pessoas de fora do governo. Elas em geral tinham respostas fáceis: mandar todos os mexicanos de volta para casa, obrigar os integrantes do Hell’s Angels a se alistarem no Exército, castrar as bichas. Quanto mais ignorantes, mais extremas eram suas opiniões. Georgetown ficava a poucos minutos da Casa Branca, mas o trajeto lhe pareceu longo. George imaginou Maria desmaiada no chão, deitada na cama à beira da morte, ou então em coma. O endereço que Nelly lhe dera se revelou uma bonita casa antiga dividida em vários apartamentos pequenos. Maria não atendeu à campainha, mas uma moça negra com cara de universitária o deixou entrar e lhe indicou onde ela morava. Maria veio abrir a porta de roupão. De fato, parecia doente. Estava abatida e com uma expressão arrasada. Não disse “entre”, mas afastou-se deixando a porta aberta, e ele entrou. Pelo menos ela estava andando, pensou, aliviado; temera coisa pior. O apartamento era minúsculo, só um quartinho e uma cozinha americana. Ele calculou que ela devia usar o banheiro coletivo do corredor. Olhou-a com atenção. Sentia muito por vê-la assim, não só doente, mas triste. Quis abraçála, mas sabia que ela não iria deixar. – O que houve, Maria? Você está com uma cara péssima! – Nada de mais, coisas de mulher. A expressão era o eufemismo geralmente usado para designar o período menstrual, mas ele estava convencido de que não era só isso. – Deixe eu lhe preparar um café... ou quem sabe um chá? – Ele tirou o sobretudo. – Não, obrigada. Mas George decidiu preparar a bebida mesmo assim, só para mostrar a ela que se importava. Nessa hora, porém, olhou para a cadeira em que ela estava prestes a sentar e viu que o assento estava manchado de sangue. Ela reparou ao mesmo tempo, enrubesceu e disse: – Ai, que droga. George sabia alguma coisa sobre o corpo feminino. Várias possibilidades lhe passaram pela cabeça. – Maria, você estava grávida e perdeu o bebê? – Não – respondeu ela sem entonação. Então hesitou. Ele aguardou, paciente. – Eu fiz um aborto – admitiu ela por fim. – Ai, coitadinha. – Ele pegou um pano de prato na cozinha, dobrou-o e o pôs em cima da
mancha. – Sente aqui por enquanto. Descanse. Olhou para a prateleira acima da geladeira e viu uma caixa de chá de jasmim. Imaginando que devesse ser o de que ela gostava, pôs água para ferver. Não disse mais nada até o chá ficar pronto. As leis relacionadas ao aborto variavam dependendo do estado. George sabia que, ali na capital, o procedimento era legalizado caso fosse necessário proteger a saúde da mãe. Muitos médicos tinham uma interpretação bem liberal desse preceito, que incluía a saúde e o bemestar da mulher em geral. Na prática, qualquer um que tivesse dinheiro podia encontrar um médico disposto a realizar um aborto. Embora tivesse dito que não queria o chá, ela aceitou uma xícara. George se sentou na sua frente com outra xícara para si. – O seu amante secreto – falou. – Imagino que seja o pai. Ela assentiu. – Obrigada pelo chá. Suponho que a Terceira Guerra Mundial ainda não tenha começado, caso contrário você não estaria aqui. – Os soviéticos fizeram seus navios reverterem o curso, então o perigo de um confronto no mar diminuiu. Mas os cubanos continuam com armas nucleares apontadas para nós. Maria parecia deprimida demais para se importar com isso. – Ele não quer casar com você – falou George. – Não. – Porque já é casado? Ela não respondeu. – Então arrumou um médico e pagou a conta. Ela assentiu. George achou aquele comportamento desprezível, mas, se dissesse isso, ela provavelmente o expulsaria da casa por insultar o homem que amava. Tentando controlar a raiva, ele perguntou: – Onde ele está agora? – Ele vai ligar. – Ela olhou para o relógio de parede. – Daqui a pouco, provavelmente. George decidiu não fazer mais perguntas. Seria maldade interrogá-la, e ela não precisava de ninguém para lhe dizer quanto tinha sido boba. Mas do que ela precisava, então? Resolveu perguntar: – Está precisando de alguma coisa? Posso ajudar? Ela começou a chorar. – Eu mal o conheço! – falou, entre soluços. – Como pode ser meu único amigo de verdade nesta cidade inteira? Ele sabia a resposta para essa pergunta: Maria tinha um segredo que não dividia com ninguém. Isso dificultava a aproximação das pessoas. – Que sorte a minha você ser tão gentil.
A gratidão dela o deixou constrangido. – Está doendo? – perguntou. – Sim, está doendo pra caramba. – Quer que eu chame um médico? – Não é para tanto. Eles me avisaram que iria doer. – Você tem aspirina em casa? – Não. – Que tal eu sair para comprar? – Você faria isso? Detesto pedir a um homem para fazer compras para mim. – Não tem problema, é uma emergência. – Tem uma farmácia bem na esquina. George largou a xícara e tornou a vestir o sobretudo. – Posso lhe pedir um favor ainda maior? – indagou ela. – Claro. – Preciso de absorventes higiênicos. Você acha que consegue me comprar uma caixa? Ele hesitou. Um homem comprando absorventes? – Não, é pedir demais – disse ela. – Esqueça. – Ah, o que eles vão fazer? Me prender? – A marca é Kotex. George assentiu. – Eu já volto. Sua coragem não durou muito. Ao chegar à farmácia, sentiu-se fulminado pela vergonha. Disse a si mesmo para se controlar. E daí se era constrangedor? Homens da mesma idade que a sua arriscavam a vida nas selvas do Vietnã. O que poderia haver de tão grave naquela situação? A loja tinha três corredores de autoatendimento e um balcão. A aspirina não ficava nas gôndolas, era preciso pedir. Para consternação de George, o mesmo valia para os produtos de higiene feminina. Ele pegou um pacote de cartolina com seis garrafas de Coca: ela estava com hemorragia, então precisava se hidratar. Mas não conseguiu adiar por muito tempo o momento da humilhação. Aproximou-se do balcão. A vendedora era uma mulher branca de meia-idade. Que sorte a minha, pensou ele. Pôs a embalagem de refrigerantes em cima do balcão e pediu: – Queria aspirina, por favor. – De que tamanho? Temos vidros pequenos, médios e grandes. George ficou sem ação. E se ela lhe perguntasse que tamanho de absorvente ele queria? – Ahn, grande, eu acho – respondeu. A vendedora pôs sobre o balcão um vidro grande de aspirina.
– Mais alguma coisa? Uma jovem cliente apareceu e se postou atrás dele segurando uma cesta de arame cheia de cosméticos. Naturalmente iria escutar tudo. – Mais alguma coisa? – repetiu a mulher. Vamos lá, George, seja homem, pensou. – Queria uma caixa de absorventes higiênicos – falou. – Kotex. A moça atrás dele abafou uma risadinha. A vendedora o encarou por cima dos óculos. – Está fazendo isso por causa de alguma aposta, rapaz? – Não, minha senhora! – respondeu ele, indignado. – São para uma moça que está doente demais para vir à loja. Ela o olhou de cima a baixo, observando o terno cinza-escuro, a camisa branca, a gravata lisa e o lenço branco dobrado no bolso da frente do paletó. Ele ficou feliz por não ter a aparência de um universitário participando de algum trote. – Está bem, eu acredito – falou. Levou a mão até debaixo do balcão e pegou uma caixa de absorventes. George olhou para aquilo horrorizado. A palavra Kotex estava impressa na lateral em letras grandes. Será que ele teria de carregar aquilo pela rua? – O senhor prefere que eu embale? – indagou a vendedora, lendo seus pensamentos. – Sim, por favor. Com movimentos rápidos e experientes, ela embrulhou a caixa em papel pardo e a pôs dentro de uma sacola junto com a aspirina. George pagou. A vendedora o encarou com um olhar duro, então pareceu se comover. – Desculpe ter duvidado. O senhor deve ser um bom amigo dessa moça. – Obrigado – disse ele, e saiu da loja depressa. Apesar do frio de outubro, estava suando. Voltou para o apartamento de Maria. Ela tomou três aspirinas, depois subiu o corredor em direção ao banheiro segurando firme a caixa embrulhada. George guardou as Cocas na geladeira e olhou em volta. Viu uma prateleira de livros de Direito acima de uma pequena mesa com fotos em porta-retratos. Em uma delas apareciam seus pais, supôs, e um religioso de certa idade que devia ser seu digno avô. Outra mostrava Maria com a roupa de formatura. Havia também uma foto do presidente Kennedy. Maria tinha um televisor, um rádio e um toca-discos. Ele examinou os discos. Ela gostava das bandas mais recentes de música pop: The Crystals, Little Eva, Booker T. & The MG’s. Sobre a mesa de cabeceira repousava o romance de sucesso A nave dos loucos. Enquanto ela estava no banheiro, o telefone tocou. George atendeu: – É da casa de Maria.
– Posso falar com ela, por favor? – pediu uma voz masculina. A voz era vagamente conhecida, mas George não conseguiu identificá-la. – Ela deu uma saidinha. Quem está... espere um instante, ela acabou de voltar. Maria arrancou o fone da sua mão. – Alô? Ah, oi... É um amigo, ele me trouxe umas aspirinas... Ah, não muito, eu vou ficar bem... – Vou ficar no hall para deixar você à vontade – disse George. Não estava gostando nem um pouco daquele amante de Maria. Mesmo que o imbecil fosse casado, deveria estar presente. Tinha engravidado a moça, então deveria cuidar dela depois do aborto. Mas aquela voz... não era a primeira vez que ele a ouvia. Será que conhecia o amante dela? Não seria nenhuma surpresa se fosse um colega de trabalho, como sua mãe supusera. Mas a voz do outro lado da linha não era a de Pierre Salinger. A moça que tinha aberto a porta para ele passou, novamente de saída. Sorriu ao vê-lo em pé do lado de fora, como um menino que se comportou mal. – Fez bagunça na aula? – perguntou. – Quem me dera – respondeu George. Ela riu e seguiu seu caminho. Maria abriu a porta e ele tornou a entrar. – Tenho mesmo que voltar ao trabalho – falou. – Eu sei. Você veio me visitar no meio da crise de Cuba. Nunca vou esquecer. Ela estava visivelmente mais feliz depois de ter falado com o amante. De repente, George teve um lampejo de compreensão. – A voz! No telefone. – Você reconheceu? Ele ficou perplexo. – Você está tendo um caso com Dave Powers? Para consternação de George, Maria deu uma risada sonora. – Ora, faça-me o favor! Ele percebeu na hora como aquilo era improvável. O assistente pessoal do presidente era um homem feio de 50 e poucos anos que ainda usava chapéu. Era pouco provável que conquistasse o coração de uma moça linda e cheia de vida. Instantes depois, atinou com quem Maria estava tendo um caso. – Ai, meu Deus – falou, encarando-a. Estava atônito com o que acabara de compreender. Maria não disse nada. – Você está transando com o presidente! – exclamou George, assombrado. – Por favor, não conte a ninguém! – implorou ela. – Se você contar, ele vai me deixar. Por favor, prometa!
– Eu prometo – falou George.
Pela primeira vez na vida, Dimka tinha feito uma coisa verdadeira, indiscutível e vergonhosamente errada. Não era casado com Nina, mas ela esperava que ele fosse fiel e ele supunha que ela também o fosse, portanto não havia dúvida de que traíra sua confiança ao passar a noite com Natalya. Tinha pensado que aquela talvez fosse a última noite da sua vida, mas a desculpa agora parecia esfarrapada. Não chegara a ter uma relação sexual com Natalya, mas isso também era uma desculpa esfarrapada; o que os dois tinham feito era até mais íntimo e mais afetuoso do que o sexo convencional. Estava torturado pela culpa. Jamais se sentira tão pouco digno de confiança, tão insincero e irresponsável. Seu amigo Valentin sem dúvida manteria o caso com as duas até ser desmascarado, mas Dimka nem cogitava essa possibilidade. Já estava se sentindo mal o suficiente depois de uma única noite de traição; seria incapaz de repetir aquilo de maneira regular. Acabaria se atirando no rio Moscou. Precisava contar para Nina ou então terminar com ela, ou os dois. Não podia viver com uma farsa daquela magnitude. Constatou, porém, que estava assustado. Aquilo era ridículo. Ele era Dmitri Ilich Dvorkin, braço direito de Kruschev, odiado por alguns, temido por muitos. Como podia estar com medo de uma simples garota? Mas estava. E Natalya? Tinha uma centena de perguntas para fazer a ela. Queria saber o que ela sentia pelo marido, sobre quem nada sabia a não ser o nome, Nik. Será que eles estavam se divorciando? Nesse caso, a separação tinha alguma coisa a ver com ele? E o mais importante de tudo: Natalya via alguma participação dele em seu futuro? Cruzava com ela no Kremlin o tempo todo, mas os dois não tinham chance de ficar a sós. O Presidium se reuniu três vezes na terça-feira – de manhã, à tarde e à noite – e nos intervalos para as refeições os assessores ficaram ainda mais atarefados. Toda vez que olhava para Natalya, ela lhe parecia mais maravilhosa. Assim como os outros colegas, ele continuava usando o mesmo terno com o qual dormira, mas Natalya tinha posto um vestido azul-escuro com casaquinho combinando que lhe dava um aspecto profissional e sedutor. Embora sua tarefa fosse evitar a Terceira Guerra Mundial, Dimka estava achando difícil se concentrar nas reuniões. Ficava olhando para ela, lembrava-se do que tinham feito e desviava os olhos, constrangido; então, no minuto seguinte, olhava outra vez. Mas o ritmo de trabalho foi tão frenético que não conseguiu conversar a sós com ela nem mesmo por alguns segundos.
Na terça à noite, já bem tarde, Kruschev foi para casa dormir na própria cama, e todos os outros o imitaram. Bem cedo na quarta de manhã, Dimka deu ao premiê a feliz informação, recém-recebida de sua irmã em Cuba, de que o Alexandrovsk havia atracado em segurança em La Isabela. O resto do dia foi igualmente atarefado. Ele viu Natalya várias vezes, mas nenhum dos dois teve um minuto livre sequer. A essa altura, Dimka já estava se fazendo mil perguntas. O que ele achava que a noite de segunda-feira tinha significado? Quais eram seus desejos para o futuro? Se algum deles estivesse vivo dali a uma semana, queria passar o resto da vida com Natalya, com Nina... ou com nenhuma das duas? Na quinta, já estava desesperado por respostas. De modo irracional, sentia que não queria morrer em uma guerra nuclear antes de ter resolvido aquela questão. Tinha um encontro com Nina naquela noite: iriam ao cinema com Valentin e Anna. Se conseguisse escapar do Kremlin a tempo de manter o compromisso, o que poderia lhe dizer? O Presidium da manhã geralmente começava às dez, e os assessores se reuniam informalmente às oito na Sala Onilova. Na quinta-feira de manhã, ele tinha uma nova proposta de Kruschev para apresentar aos outros, e também torcia para conseguir conversar a sós com Natalya. Estava prestes a abordá-la quando Yevgeny Filipov apareceu com as primeiras edições dos jornais europeus. – As manchetes são todas ruins – anunciou, e, embora fingisse estar abalado pela tristeza, Dimka sabia que ele estava sentindo o contrário. – O recuo dos nossos navios está sendo retratado como um humilhante rebaixamento da União Soviética! Não era exagero, constatou Dimka ao espiar os jornais espalhados sobre as mesas modernas e baratas. Natalya saiu em defesa do premiê: – É claro que eles estão dizendo isso. Todos esses jornais têm donos capitalistas. Você esperava que eles fossem elogiar a sabedoria e o comedimento do nosso líder? É ingênuo, por acaso? – Ingênua é você. O Times de Londres, o Corriere de la Sera italiano e o Le Monde de Paris são os jornais que os líderes dos países do Terceiro Mundo que esperamos conquistar para a nossa causa leem e nos quais confiam. Era verdade. Por mais injusto que fosse, as pessoas mundo afora confiavam mais na imprensa capitalista do que nas publicações comunistas. – Não podemos decidir nossa política externa com base nas prováveis reações dos jornais ocidentais – retrucou Natalya. – Essa operação deveria ter sido ultrassecreta – falou Filipov. – Só que os americanos descobriram. Todos nós sabemos quem era o responsável pela segurança. – Ele estava se referindo a Dimka. – Por que essa pessoa está sentada aqui diante desta mesa? Não deveria estar sendo interrogada? – Talvez seja culpa da segurança do Exército – rebateu Dimka. Filipov trabalhava para o
ministro da Defesa. – Quando soubermos como o segredo vazou, aí sim poderemos decidir quem deve ser interrogado. Era uma resposta fraca e ele sabia disso, mas ainda não tinha a menor ideia do que saíra errado. Filipov mudou de tática: – No Presidium de hoje de manhã, a KGB vai informar que os americanos aumentaram drasticamente sua mobilização na Flórida. As ferrovias estão congestionadas com vagões carregados de tanques e peças de artilharia. A pista de turfe de Hallandale foi ocupada pela 1a Divisão de Blindados, e há milhares de homens dormindo nas arquibancadas. As fábricas de munição estão trabalhando sem descanso na produção de balas para os aviões americanos alvejarem soldados soviéticos e cubanos. Bombas de napalm... – Isso também estava previsto – interrompeu Natalya. – Mas o que nós vamos fazer quando eles invadirem Cuba? – perguntou Filipov. – Se reagirmos usando somente armas convencionais, não teremos como vencer; os americanos são fortes demais. Vamos reagir com armas nucleares? O presidente Kennedy afirmou que, se qualquer arma nuclear for lançada de Cuba, vai bombardear a União Soviética. – Ele não pode estar falando sério – disse Natalya. – É só ler os relatórios da Inteligência do Exército Vermelho. Há bombardeiros americanos nos rodeando neste exato instante! – Ele apontou para o teto, como se fosse possível erguer os olhos e ver os aviões. – Só existem dois desfechos possíveis para nós: uma humilhação internacional, se tivermos sorte, ou o holocausto nuclear. Natalya se calou. Ninguém em volta da mesa tinha resposta para isso. Exceto Dimka. – O camarada Kruschev tem uma solução – disse ele. Todos o encararam, espantados. – Na reunião de hoje de manhã, o primeiro-secretário vai sugerir uma proposta a ser feita aos Estados Unidos. – O silêncio era sepulcral. – Vamos desmontar nossos mísseis em Cuba... Ele foi interrompido por uma reação em coro ao redor da mesa que ia de arquejos de surpresa a gritos de protesto. Ergueu uma das mãos para pedir silêncio. – Vamos desmontar nossos mísseis em troca de uma garantia daquilo que queríamos desde o início. Os americanos terão de prometer não invadir Cuba. Os presentes levaram alguns segundos para digerir a informação. Natalya foi a primeira a entender. – Excelente – falou. – Como Kennedy vai poder recusar? Isso equivaleria a reconhecer sua intenção de invadir um país pobre do Terceiro Mundo. Ele seria condenado mundialmente por colonialismo. E estaria provando nossa tese de que Cuba precisa de mísseis nucleares para se defender. Além de ser a pessoa mais bonita em volta daquela mesa, ela era também a mais inteligente.
– Mas, se Kennedy aceitar, vamos ter que tirar os mísseis de lá – falou Filipov. – Eles não serão mais necessários! – disse Natalya. – A Revolução Cubana estará segura. Dimka pôde ver que Filipov queria criticar o plano, mas não conseguia. Kruschev tinha posto a União Soviética em uma situação espinhosa, mas acabara inventando uma saída honrosa. Quando a reunião se dispersou, Dimka enfim conseguiu abordar Natalya. – Precisamos conversar um minuto sobre os termos a serem usados na proposta de Kruschev para Kennedy – falou. Eles se afastaram até o canto da sala e sentaram-se. Dimka fitou a frente do vestido dela e se lembrou dos seios miúdos com mamilos proeminentes. – Você precisa parar de me encarar – disse ela. Ele se sentiu bobo. – Eu não estava encarando você – retrucou, embora evidentemente não fosse verdade. Ela ignorou a resposta: – Se continuar, até os homens vão reparar. – Desculpe, não consigo evitar. Estava desanimado. Aquela não era a conversa íntima e feliz que havia previsto. – Ninguém pode saber o que fizemos. – Natalya parecia assustada. Dimka teve a sensação de estar falando com uma pessoa diferente da moça alegre e sensual que o seduzira na antevéspera. – Bom, eu não planejo sair por aí contando, mas não sabia que era um segredo de Estado. – Eu sou casada! – Está planejando continuar com Nik? – Que pergunta é essa? – Vocês têm filhos? – Não. – As pessoas se divorciam. – Meu marido nunca iria aceitar um divórcio. Ele a encarou. Obviamente aquilo não era o fim do mundo: uma mulher podia se divorciar contra a vontade do marido. Mas aquela conversa na verdade não era sobre o estado civil de Natalya. Por algum motivo, ela estava apavorada. – Por que você fez aquilo, afinal? – perguntou Dimka. – Achei que fôssemos todos morrer! – E agora está arrependida? – Eu sou casada! – repetiu ela. Isso não respondia à sua pergunta, mas ele imaginou que não fosse conseguir lhe arrancar mais nada. Boris Kozlov, outro assessor de Kruschev, o chamou da cantina: – Dimka, vamos!
Ele se levantou. – Podemos conversar de novo em breve? – murmurou. Natalya baixou os olhos e não respondeu. – Dimka, vamos logo! – insistiu Boris. Ele saiu. O Presidium passou a maior parte do dia debatendo a proposta de Kruschev. Havia complicações. Será que os americanos insistiriam para inspecionar as bases de lançamento e verificar se tinham mesmo sido desativadas? Será que Fidel aceitaria essa inspeção? Será que ele prometeria não aceitar armas nucleares de nenhum outro país, como a China, por exemplo? Mesmo assim, na opinião de Dimka, aquilo representava a maior esperança de paz desde o início da crise. Enquanto isso, ficou pensando em Nina e Natalya. Antes da conversa daquela manhã, pensava que caberia a ele se decidir entre as duas. Agora percebia que tinha se iludido ao pensar que a escolha seria sua. Natalya não iria largar o marido. Percebeu que era louco por ela de um jeito que nunca tinha sido por Nina. Sempre que alguém batia na porta da sua sala, torcia para que fosse Natalya. Na sua lembrança, rememorou vezes sem conta os momentos que haviam passado juntos, escutando obsessivamente tudo o que ela lhe dissera até as inesquecíveis palavras: “Ai, Dimka, eu adoro você.” Não era um eu te amo, mas era quase. Só que ela não iria se divorciar. Mesmo assim, era Natalya que ele queria. Portanto, precisava dizer a Nina que estava tudo acabado entre eles. Não podia continuar tendo um caso com uma mulher que era sua segunda opção; seria desonesto. Na sua imaginação, pôde ouvir Valentin zombando de seus escrúpulos, mas não conseguia evitá-los. Só que Natalya pretendia ficar com o marido. Então ele ficaria sozinho. Falaria com Nina naquela mesma noite. Os quatro haviam combinado se encontrar no apartamento delas. Chamaria Nina num canto e lhe diria... o que exatamente? Quando tentava encontrar as palavras exatas, tudo parecia mais difícil. Vamos lá, pensou, você já escreveu discursos para Kruschev, pode muito bem escrever um para si mesmo. Está tudo acabado entre nós... Não quero mais namorar você... Pensei que estivesse apaixonado, mas percebi que não... Foi divertido enquanto durou... Tudo em que pensava lhe parecia cruel. Será que não havia nenhuma forma delicada de dizer aquilo? Talvez não. Que tal a verdade nua e crua? Conheci outra pessoa que amo de verdade... Isso soava pior do que todo o resto. No final da tarde, Kruschev decidiu que o Presidium deveria fazer uma demonstração pública de boa vontade internacional comparecendo em grupo ao Teatro Bolshoi, onde o
americano Jerome Hines cantaria Boris Godunov, a mais popular das óperas russas. Os assessores também estavam convidados. Dimka achou aquilo uma ideia boba. Quem se deixaria enganar? Por outro lado, ficou aliviado por ter que desmarcar o encontro com Nina, que agora lhe causava imensa apreensão. Telefonou para o sindicato e conseguiu pegá-la logo antes de ela sair. – Não vou conseguir ir ao cinema hoje à noite. Preciso ir ao Bolshoi com meu chefe. – Não dá para recusar? – perguntou ela. – Está brincando? Alguém que trabalhasse para o primeiro-secretário faltaria ao funeral da própria mãe antes de lhe desobedecer. – Quero encontrar você. – Não vai dar. – Passe na minha casa depois da ópera. – Vai ficar tarde. – Por mais tarde que seja, passe lá. Vou ficar acordada, mesmo se tiver que esperar a noite inteira. Ele ficou intrigado. Nina não costumava ser tão insistente. Estava soando quase carente, o que não era do seu feitio. – Aconteceu alguma coisa? – Temos que conversar sobre um assunto. – Que assunto? – Hoje à noite eu falo. – Fale agora. Ela desligou. Dimka vestiu o sobretudo e foi a pé até o teatro, a poucos passos do Kremlin. Jerome Hines tinha 1,98 metro e usava uma coroa com uma cruz no alto; sua presença era formidável. A voz de baixo incrivelmente portentosa enchia o teatro, fazendo seus espaçosos recintos parecerem pequenos. No entanto, Dimka assistiu à ópera de Mussorgsky sem ouvir muita coisa. Ignorou o espetáculo que acontecia no palco. Passou a noite preocupado ora com a reação dos americanos à proposta de paz de Kruschev, ora com a de Nina ao fim do relacionamento. Por fim, Kruschev disse boa-noite e Dimka foi a pé até o apartamento das duas moças, a cerca de um quilômetro e meio do teatro. No caminho, tentou imaginar sobre o que Nina queria conversar. Talvez ela fosse terminar o namoro, o que seria um alívio. Talvez tivessem lhe oferecido uma promoção que exigisse uma mudança para Leningrado. Talvez até ela tivesse conhecido outra pessoa, como ele, e decidido que esse outro homem era o certo. Ou talvez estivesse doente: uma doença fatal, relacionada com as misteriosas razões que a impediam de engravidar. Todas essas possibilidades ofereciam uma saída fácil para Dimka, e ele percebeu que ficaria feliz com qualquer uma delas, quem sabe até – para a própria
vergonha – a doença fatal. Não, pensou, na verdade não quero que ela morra. Como havia prometido, Nina estava à sua espera. Usava um roupão de seda verde como se estivesse prestes a ir para a cama, mas seus cabelos estavam perfeitos e ela estava levemente maquiada. Deu-lhe um beijo na boca, e ele retribuiu com o coração repleto de vergonha. Estava traindo Natalya ao saborear aquele beijo, e traindo Nina ao pensar em Natalya. A dupla culpa o deixou com dor de barriga. Nina lhe serviu um corpo de cerveja e ele bebeu metade bem depressa, torcendo para o álcool lhe dar coragem. Ela se acomodou ao lado dele no sofá. Dimka teve quase certeza de que ela estava nua por baixo do roupão, e a imagem de Natalya em sua mente começou a se apagar um pouco. – Não estamos em guerra ainda – falou. – Minha notícia é essa. E a sua? Nina pegou a cerveja da mão dele, pousou-a sobre a mesa de centro e segurou sua mão. – Estou grávida – disse. Dimka teve a sensação de ter levado um soco. Olhou para ela com uma expressão de choque e incompreensão. – Grávida – repetiu, feito um bobo. – De dois meses e pouquinho. – Tem certeza? – Já faz dois ciclos que não menstruo. – Mas mesmo assim... – Olhe. – Ela abriu o roupão e lhe mostrou os seios. – Estão maiores. Ele constatou que estavam mesmo, e sentiu um misto de desejo e desânimo. – E doloridos. – Ela fechou o roupão, mas não muito apertado. – E fumar tem me dado um enjoo danado. Caramba, estou me sentindo grávida. Não podia ser verdade. – Mas você falou... – Que não podia ter filhos. – Ela olhou para o outro lado. – Foi o que o médico me disse. – Já esteve com ele? – Já. Está confirmado. – E o que ele diz agora? – perguntou Dimka, incrédulo. – Que é um milagre. – Médicos não acreditam em milagres. – Foi o que pensei também. Ele tentou fazer o cômodo parar de girar à sua volta. Engoliu em seco e lutou para superar o choque. Precisava ser prático. – Você não quer se casar, e eu também não quero, de jeito nenhum – falou. – O que vamos fazer? – Você precisa me dar dinheiro para um aborto.
Ele engoliu em seco. – Está bem. Embora não fosse difícil fazer um aborto em Moscou, era caro. Dimka pensou em como poderia conseguir a quantia necessária. Vinha planejando vender a moto e comprar um carro usado. Se adiasse esse projeto, provavelmente conseguiria pagar. Também poderia pedir emprestado aos avós. – Isso eu posso fazer. Ela se corrigiu na mesma hora: – Vamos pagar metade cada um. Fizemos esse bebê juntos. De repente, a sensação de Dimka mudou. Foi o fato de ela ter dito bebê. Ele ficou dividido. Imaginou-se com um bebê no colo, vendo uma criança dar os primeiros passos, ensinando-a a ler, levando-a à escola. – Tem certeza de que quer abortar? – O que você está sentindo? – Desconforto. – Perguntou-se por que tinha essa sensação. – Não acho que seja um pecado nem nada desse tipo. Só comecei a imaginar... um bebezinho, sabe? – Não soube muito bem de onde vinham esses sentimentos. – Não podemos dar a criança para adoção? – Dar à luz e depois entregar o bebê para desconhecidos? – Eu sei, também não gosto dessa ideia. Mas é difícil criar um filho sozinha. Enfim, eu ajudaria você. – Por quê? – Porque o filho vai ser meu também. Ela segurou a mão dele. – Obrigada por dizer isso. – De repente, Nina lhe pareceu muito vulnerável, e ele sentiu um aperto no peito. – A gente se ama, não é? – perguntou ela. – Sim. Naquele instante, era verdade. Dimka pensou em Natalya, mas por algum motivo a imagem que teve dela foi vaga, distante, ao passo que Nina estava bem ali, em carne e osso, pensou, e essa expressão lhe pareceu mais vívida do que de costume. – E nós dois vamos amar a criança, não vamos? – Sim. – Bom, nesse caso... – Mas você não quer se casar. – Eu não queria. – Não queria? – Era assim que eu pensava antes de ficar grávida. – Mas mudou de ideia? – Tudo parece diferente agora. Dimka estava perplexo. Os dois estavam mesmo falando em casamento? Desesperado por
dizer alguma coisa, tentou fazer piada: – Se você está me pedindo em casamento, cadê o pão e o sal? A cerimônia de noivado tradicional russa previa a troca de presentes simbolizados por pão e sal. Para seu espanto, Nina desatou a chorar. Seu coração derreteu. Ele a envolveu nos braços. No início, ela resistiu, mas depois de alguns instantes se soltou. Suas lágrimas molharam a camisa de Dimka. Ele afagou seus cabelos. Ela então ergueu o rosto para um beijo, que interrompeu um minuto depois. – Faz amor comigo antes de eu ficar toda gorda e horrorosa? O roupão se entreabriu e ele viu um seio macio coberto por sardas encantadoras. – Faço – respondeu, destemido, empurrando a imagem de Natalya ainda mais para o fundo da mente. Nina o beijou outra vez. Ele segurou seu seio; estava mais pesado do que antes. Ela tornou a se afastar. – Você não estava falando sério no começo, estava? – Quando? – Quando disse que não queria se casar de jeito nenhum. Ainda segurando o seio dela, Dimka sorriu. – Não – respondeu. – Não estava falando sério.
Na tarde de quinta-feira, George Jakes estava levemente otimista. Apesar de fervendo, a panela ainda estava tampada. A quarentena já tinha entrado em vigor, os navios soviéticos que transportavam mísseis tinham dado meia-volta e não houvera nenhum confronto em alto-mar. Os Estados Unidos não tinham invadido Cuba e ninguém havia disparado nenhuma arma nuclear. Talvez, no final das contas, a Terceira Guerra Mundial pudesse ser evitada. A sensação durou apenas mais um pouco. Os assessores de Bobby Kennedy tinham uma TV em sua sala no Departamento de Justiça, e às cinco da tarde assistiram a uma transmissão da sede da ONU, em Nova York. O Conselho de Segurança estava reunido, vinte cadeiras em volta de uma mesa em forma de ferradura. Do lado interno da ferradura ficavam sentados intérpretes com fones de ouvido. O restante da sala estava abarrotado de assessores e outros observadores, que assistiam ao confronto cara a cara entre as duas superpotências. O embaixador americano junto à ONU chamava-se Adlai Stevenson, um intelectual careca que havia tentado ser candidato democrata à presidência em 1960 e sido derrotado por Jack Kennedy, que saía melhor no vídeo.
O representante soviético, o inexpressivo Valerian Zorin, negava em seu costumeiro tom monocórdio que houvesse qualquer arma nuclear em Cuba. Diante da TV, em Washington, George comentou, irritado: – Que mentiroso! Stevenson deveria mostrar as fotos e pronto. – Foi o que o presidente o mandou fazer. – Então por que ele não faz? Wilson deu de ombros. – Homens como Stevenson sempre acham que sabem decidir melhor. Na tela, Stevenson se levantou. – Vou fazer uma pergunta simples – falou. – Embaixador Zorin, o senhor nega que a União Soviética tenha instalado e continue instalando bases e mísseis de alcance médio e intermediário em Cuba? Sim ou não? – Boa, Adlai – falou George, e ouviu-se um murmúrio quando os homens que assistiam com ele concordaram. Em Nova York, Stevenson encarou Zorin, sentado a poucas cadeiras de distância dele na mesa em forma de ferradura. O russo continuou a fazer anotações em seu bloco. – Não fique esperando a tradução – insistiu o americano, impaciente. – Sim ou não? Os assessores em Washington riram. Por fim, Zorin acabou respondendo em russo, e o intérprete traduziu: – Sr. Stevenson, queira continuar sua declaração. Vai receber sua resposta no devido tempo, não se preocupe. – Estou preparado para esperar minha resposta até o inferno congelar – rebateu Stevenson. Os assessores de Bobby Kennedy comemoraram. Enfim os Estados Unidos estavam lhes dando uma dura! Stevenson então falou: – E também estou preparado para apresentar as provas aqui nesta sala. – É isso aí! – exclamou George, dando um soco no ar. – Se os senhores me derem um instante, vamos montar um cavalete aqui, no fundo da sala, onde espero que todos possam ver – continuou Stevenson. A câmera se moveu para dar um close em meia dúzia de homens de terno que montavam rapidamente um suporte para fotografias ampliadas. – Agora pegamos esses canalhas! – disse George. Stevenson prosseguiu, em tom controlado e seco, mas de alguma forma também permeado de agressividade: – A primeira série de imagens mostra uma área ao norte do vilarejo de Candelária, perto de San Cristóbal, a sudoeste de Havana. A primeira foto mostra a região em agosto de 1962, na época uma tranquila zona rural. – Delegados e outros presentes se aproximaram dos cavaletes para tentar ver a que Stevenson estava se referindo. – A segunda foto mostra a mesma região em um dia da semana passada. – Stevenson fez uma pausa, e o silêncio tomou
conta da sala. Alguns veículos e barracas tinham aparecido, bem como novas estradas secundárias, e a estrada principal tinha sido melhorada. – A terceira foto, tirada apenas 24 horas depois, mostra as instalações de um batalhão de mísseis de médio alcance – disse ele. As exclamações dos delegados se uniram para formar um burburinho de surpresa. Stevenson prosseguiu. Novas fotografias foram mostradas. Até então, alguns líderes nacionais acreditavam no desmentido do embaixador soviético. Agora todo mundo sabia a verdade. Impassível, Zorin não dizia nada. George tirou os olhos da TV e viu Larry Mawhinney entrar no recinto. Encarou-o com desconfiança: da última vez em que os dois tinham se falado, Larry se zangara com ele. Agora, porém, parecia amigável. – Oi, George – cumprimentou, como se os dois nunca tivessem trocado palavras ásperas. George respondeu em tom neutro: – Quais as notícias do Pentágono? – Vim avisar que nós vamos abordar um navio soviético – respondeu Larry. – O presidente decidiu há poucos minutos. O coração de George se acelerou. – Que merda – comentou. – Logo quando eu achei que as coisas poderiam estar se acalmando. – Parece que ele acha que a quarentena não significa nada a menos que interceptemos e inspecionemos pelo menos uma embarcação suspeita – continuou Mawhinney. – Ele já está reclamando por termos deixado passar um petroleiro. – Que tipo de navio vamos interceptar? – O Marucla, um cargueiro libanês com tripulação grega que está fazendo transporte para o governo soviético. Partiu de Riga, supostamente levando papel, enxofre e peças avulsas para caminhões soviéticos. – Não consigo imaginar os soviéticos confiando em uma tripulação grega para transportar seus mísseis. – Se você estiver certo, não vai haver problemas. George olhou para o relógio. – E quando vai ser isso? – Agora está de noite no Atlântico. Eles vão ter que esperar até de manhã. Larry se retirou, e George ficou pensando quão perigoso seria aquilo tudo. Difícil saber. Se o Marucla fosse tão inocente quanto fingia ser, talvez a abordagem corresse sem violência. Mas e se estivesse transportando armas nucleares? Kennedy havia tomado mais uma decisão arriscada. E havia seduzido Maria Summers. George não estava muito espantado com o fato de Kennedy estar tendo um caso com uma negra. Se metade das fofocas fosse verdade, ele não era nada difícil em se tratando de
mulheres. Muito pelo contrário: gostava de quarentonas e de adolescentes, de louras e morenas, de socialites do mesmo nível social que o seu e de datilógrafas sem nada na cabeça. George se perguntou por um instante se Maria ao menos desconfiava de que era uma entre muitas. Kennedy não tinha nenhum sentimento forte em relação a raça, e sempre considerara isso uma questão puramente política. Embora não tivesse querido ser fotografado com Percy Marquand e Babe Lee temendo perder votos, George já o vira apertando alegremente a mão de muitos negros e negras, conversando e rindo, relaxado e à vontade. Também ficara sabendo que o presidente frequentava festas nas quais havia prostitutas de todas as cores, embora não soubesse quão verídicos eram esses boatos. Mas a frieza de Kennedy o deixara chocado. Não tanto pelo procedimento pelo qual Maria tivera de passar – que já era suficientemente desagradável –, mas pelo fato de ela estar sozinha. O homem que a engravidara deveria ter ido buscá-la após a intervenção, tê-la levado para casa e ficado com ela até ter certeza de que estava tudo bem. Um telefonema só não bastava. O fato de ele ser presidente não era desculpa suficiente. Jack Kennedy caíra muito no conceito de George. Bem na hora em que ele estava pensando em homens irresponsáveis que engravidavam moças, seu pai entrou na sala. George ficou espantado: Greg nunca fora ao seu escritório antes. – Oi, George – disse ele, e os dois apertaram-se as mãos como se não fossem pai e filho. Greg estava usando um terno amarrotado feito de uma fazenda macia, azul com risca de giz, que parecia ter um pouco de cashmere na trama. Se eu pudesse pagar por um terno desses, pensou George, iria mantê-lo passado. Ele muitas vezes pensava isso ao olhar para Greg. – Que surpresa inesperada – respondeu. – Como vai? – Estava passando pela porta da sua sala. Quer tomar um café? Foram juntos até a cafeteria. Greg pediu um chá e George, uma garrafa de Coca-Cola e um canudo. Quando se sentaram, George comentou: – Uma pessoa me perguntou por você outro dia. Uma mulher que trabalha na assessoria de imprensa. – Qual é o nome dela? – Nell alguma coisa. Estou tentando me lembrar. Nelly Ford? – Nelly Fordham. O olhar de Greg se perdeu ao longe, e sua expressão revelou nostalgia por deleites já semiesquecidos. George achou graça. – Uma namorada sua, pelo visto. – Mais do que isso. Fomos noivos. – Mas não se casaram. – Ela terminou comigo. George hesitou.
– Talvez isso não seja da minha conta, mas... por quê? – Bom... se quer mesmo saber, ela descobriu sobre você, e disse que não queria se casar com um homem que já tinha família. George estava fascinado; seu pai raramente se abria em relação a essa época. Greg tinha um ar pensativo. – Nelly provavelmente estava certa. Você e sua mãe eram a minha família. Só que eu não podia me casar com a sua mãe... não podia ter uma carreira na política casado com uma negra. Então escolhi a carreira. Não posso dizer que ela me fez feliz. – Você nunca me falou sobre isso. – Eu sei. Foi preciso a ameaça da Terceira Guerra Mundial para me fazer lhe contar a verdade. Mas diga lá, como acha que as coisas estão caminhando? – Espere aí. Algum dia existiu mesmo a possibilidade de você se casar com mamãe? – Quando eu tinha 15 anos, queria isso mais do que qualquer outra coisa no mundo. Mas meu pai fez de tudo para garantir que não acontecesse. Eu tive outra chance, dez anos depois, mas a essa altura já tinha idade suficiente para ver como a ideia era maluca. Veja bem, casais inter-raciais ainda têm uma vida bem complicada hoje, nos anos 1960; imagine só como teria sido na década de 1940. Provavelmente nós três teríamos sido infelizes. – Ele parecia triste. – Além do mais, eu não tive colhão... a verdade é essa. Agora me fale sobre a crise. Com esforço, George voltou sua atenção para os mísseis cubanos. – Uma hora atrás, eu estava começando a acreditar que poderíamos sair dessa... mas agora o presidente mandou a Marinha interceptar um navio soviético amanhã de manhã. – Ele contou a Greg sobre o Marucla. – Se o navio for mesmo o que estão dizendo, não deve haver problema nenhum – falou Greg. – É. Nossos rapazes vão subir a bordo, inspecionar a carga, depois distribuir uns chocolates e ir embora. – Chocolates? – Cada navio de interceptação recebeu o equivalente a duzentos dólares em “material interpessoal”, ou seja, barras de chocolate, revistas e isqueiros baratos. – Viva os Estados Unidos! Mas... – Mas se a tripulação for soviética e a carga, ogivas nucleares, o navio provavelmente não vai parar quando solicitado. E aí vai começar a troca de tiros. – É melhor eu deixar você continuar a salvar o mundo. Os dois se levantaram e saíram da cafeteria. No corredor, tornaram a se cumprimentar com outro aperto de mão. – Mas na verdade eu passei aqui porque... George aguardou. – Pode ser que todos nós morramos neste fim de semana, e antes disso eu queria que você soubesse uma coisa.
– Está bem. – Ele se perguntou que diabos seu pai iria dizer. – Você é a melhor coisa que já me aconteceu na vida. – Nossa! – disse George, baixinho. – Não tenho sido grande coisa como pai, não fui gentil com a sua mãe e... bom, isso tudo você já sabe. Mas eu tenho orgulho de você, George. Sei que não mereço nenhum crédito, mas, meu Deus, como tenho orgulho... Estava com os olhos marejados. George não fazia ideia da força dos sentimentos de Greg. Ficou estarrecido. Não soube como reagir a emoções tão inesperadas. Acabou dizendo apenas: – Obrigado. – Tchau, George. – Tchau. – Que Deus o abençoe e proteja – disse Greg, e foi embora.
Bem cedo na manhã de sexta-feira, George foi para a Sala de Crise da Casa Branca. Kennedy mandara criar aquele conjunto de cômodos no subsolo da Ala Oeste, onde antes ficava uma pista de boliche. Seu objetivo declarado era acelerar o processo de informação durante uma crise; na verdade, porém, achava que os militares tivessem sonegado informações dele durante a crise da Baía dos Porcos, e queria ter certeza de que eles nunca mais teriam outra chance de fazer isso. Nessa manhã, as paredes estavam cobertas por mapas em grande escala de Cuba e seu entorno marítimo. Os teletipos zumbiam feito cigarras em uma noite de verão, gerando cópias dos telegramas do Pentágono. O presidente também podia ouvir as comunicações militares. As operações de quarentena estavam sendo comandadas de uma sala no Pentágono conhecida como Cabine de Controle da Marinha, mas as conversas de rádio entre a sala e os navios podiam ser interceptadas ali. Os militares detestavam a Sala de Crise. George se acomodou em uma moderna e desconfortável cadeira diante de uma mesa vagabunda e começou a escutar. Ainda estava pensando na conversa da noite anterior com Greg. Será que o senador esperava que George o abraçasse gritando “Papai!”? Provavelmente não; parecia à vontade com seu papel de tio. George não tinha qualquer desejo de mudar aquela situação. Aos 26 anos, não podia de repente começar a tratar Greg como um pai normal. Mesmo assim, estava bastante feliz com o que tinha escutado. Meu pai me ama, pensou; isso não pode ser de todo ruim. O navio americano Joseph P. Kennedy interpelou o Marucla ao raiar do dia. O Kennedy era um destróier de 2.400 toneladas armado com oito mísseis, um lançafoguetes antissubmarino, seis lança-torpedos e duas peças de artilharia de 12 centímetros.
Tinha também capacidade para cargas nucleares de profundidade. O Marucla desligou os motores na mesma hora, e George respirou mais aliviado. O Kennedy soltou um bote e seis homens abordaram o Marucla. Apesar do mar bravio, a tripulação do cargueiro foi solícita e lançou uma escada de corda pelo costado. Mesmo assim, a água agitada dificultou a abordagem. O oficial encarregado não queria passar ridículo caindo na água, mas depois de algum tempo tentou, pulou para pegar a corda e subiu no cargueiro. Seus homens subiram atrás. Os tripulantes gregos lhes ofereceram café. Mostraram-se mais do que dispostos a abrir os compartimentos para os americanos poderem conferir a carga, que consistia mais ou menos do que fora informado. Houve um momento de tensão quando os americanos insistiram para abrir um caixote identificado como “Instrumentos Científicos”, que no fim das contas estava cheio de material de laboratório bem pouco sofisticado, do tipo que se poderia encontrar em uma escola de ensino médio. Os americanos foram embora, e o Marucla seguiu seu curso para Havana. George deu a boa notícia a Bobby Kennedy por telefone, depois pegou um táxi. Pediu ao motorista que o levasse até a esquina da Rua 5 com a K, em uma das piores zonas de favela da cidade. Ali, acima de uma concessionária de automóveis, ficava o Centro Nacional de Interpretação Fotográfica da CIA. George queria entender melhor aquele ofício e tinha solicitado uma aula especial; como trabalhava para Bobby, tinha conseguido. Caminhou por uma calçada cheia de garrafas de cerveja, entrou no prédio, passou por uma roleta de segurança e foi escoltado até o terceiro andar. Quem lhe mostrou as instalações foi um perito em interpretação fotográfica grisalho chamado Claud Henry, que havia aprendido o ofício durante a Segunda Guerra Mundial analisando fotos aéreas de estragos causados por bombas alemãs. – Ontem a Marinha mandou jatos Crusader sobrevoarem Cuba, então agora temos fotografias tiradas a baixa altitude, muito mais fáceis de analisar – explicou ele. George não as achou tão fáceis assim. Para ele, as fotografias pregadas nas paredes da sala de Claud ainda pareciam arte abstrata, formas sem significado organizadas em um padrão aleatório. – Isto aqui é uma base militar soviética – disse o perito, apontando para uma das imagens. – Como o senhor sabe? – Aqui tem um campo de futebol. Os cubanos não jogam futebol. Se a base fosse cubana, teria um campo de beisebol em formato de diamante. George assentiu. Esperto, pensou. – Isto aqui é uma fila de tanques T-54. Para George, pareciam apenas quadrados pretos. – E estas barracas são abrigos antimíssil – disse Claud. – Segundo nossos barracólogos. – Barracólogos? – Isso. Eu na verdade sou caixotólogo. Escrevi o manual da CIA sobre caixotes.
George sorriu. – O senhor não está brincando, está? – Quando os soviéticos transportam por mar objetos grandes como aviões de caça, tem que ser no convés. Eles os disfarçam pondo dentro de caixotes. Mas nós em geral conseguimos descobrir as dimensões do caixote. E o tamanho do caixote no qual um MiG-15 é transportado é diferente do tamanho do caixote de um MiG-21. – Me diga uma coisa: os soviéticos têm esse tipo de conhecimento? – Acreditamos que não. Pense bem: eles derrubaram um U-2, então sabem que temos aviões de grande altitude com câmeras. No entanto, pensaram que poderiam mandar mísseis para Cuba sem que descobríssemos. Continuaram negando a existência dos mísseis até ontem, quando lhes mostramos as fotos. Portanto, eles sabem sobre os aviões espiões e sobre as câmeras, mas até agora não sabiam que podíamos ver seus mísseis da estratosfera. Isso me leva a crer que estão atrasados em relação a nós no que diz respeito à interpretação de imagens. – Faz sentido. – Mas a grande revelação de ontem à noite é esta. – Claud apontou para um objeto com barbatanas em uma das fotos. – Meu chefe vai informar o presidente daqui a no máximo uma hora. Tem 10 metros de comprimento. Nós chamamos de FROG, a sigla em inglês para Foguete Livre Terra-Terra. É um míssil de curto alcance previsto para situações de combate. – E vai ser usado contra soldados americanos em caso de invasão a Cuba. – Isso. E o FROG foi projetado para transportar uma ogiva nuclear. – Puta que pariu! – Deve ser isso mesmo que o presidente vai dizer.
CAPÍTULO DEZOITO
Na noite de sexta-feira, o rádio estava ligado na cozinha da casa da Great Peter Street. Pelo mundo todo, as pessoas mantinham sempre o rádio ligado, amedrontadas, à espera das últimas notícias. Era uma cozinha ampla, com uma mesa comprida de pinho encerado no centro. Jasper Murray estava preparando torradas e lendo os jornais. Lloyd e Daisy Williams recebiam todos os jornais de Londres e vários outros do continente. Desde que havia combatido na Guerra Civil da Espanha, o principal interesse de Lloyd como deputado era a política externa. Jasper passava os olhos pelas notícias em busca de algum motivo para ter esperança. No dia seguinte, sábado, haveria uma passeata de protesto em Londres, isso se a cidade ainda estivesse de pé. Jasper faria a cobertura como repórter da gazeta estudantil St. Julian’s News. Na verdade, não gostava muito de notícias de atualidade; preferia as matérias especiais, textos mais longos e reflexivos, nos quais o estilo podia ser um pouco mais refinado. Seu sonho era um dia trabalhar para uma revista, ou talvez até na televisão. Primeiro, no entanto, queria virar editor do St. Julian’s News. Muito cobiçado, o cargo praticamente garantia ao aluno um bom emprego como jornalista quando se formasse. Jasper tinha se candidatado, mas fora derrotado por Sam Cakebread. O sobrenome Cakebread era famoso no jornalismo britânico: o pai de Sam era editor assistente do Times londrino, e seu avô era um locutor de rádio extremamente popular. Sam tinha uma irmã mais nova que estudava em St. Julian’s e fora estagiária da revista Vogue. Jasper desconfiava que Sam devia o emprego mais ao sobrenome do que à competência. Mas ali na Grã-Bretanha a competência nunca bastava. O avô de Jasper tinha sido um grande general, e seu pai estava trilhando carreira semelhante até cometer o erro de se casar com uma judia; consequentemente, nunca havia ultrapassado a patente de coronel. O establishment britânico não perdoava quem violasse suas regras. Jasper ouvira dizer que nos Estados Unidos era diferente. Evie Williams, sentada com ele à mesa da cozinha, fabricava um cartaz com os dizeres TIREM AS MÃOS DE CUBA. Para alívio de Jasper, a paixonite de colegial que Evie tinha por ele era coisa do passado. Ela agora estava com 16 anos e tinha uma beleza pálida, etérea, mas era séria e intensa demais para o seu gosto. Qualquer rapaz que a namorasse precisaria compartilhar seu arrebatado comprometimento com uma ampla gama de campanhas contra a crueldade e a injustiça, do apartheid sul-africano às experiências com animais. Ele, por sua vez, não era comprometido com nada. Além disso, preferia garotas como a espevitada Beep Dewar, que, apesar de ter só 13 anos, enfiara a língua em sua boca e se esfregara nele quando seu pau estava duro. Observou Evie desenhar, dentro do O de “mãos”, o símbolo de quatro braços da Campanha
pelo Desarmamento Nuclear. – Quer dizer que o seu slogan apoia duas causas idealistas pelo preço de uma! – Idealista nada – retrucou ela, ríspida. – Se a guerra estourar hoje à noite, sabe qual vai ser o primeiro alvo das bombas soviéticas? A Grã-Bretanha. Isso porque temos armas nucleares que eles precisam eliminar antes de atacar os Estados Unidos. Não vão bombardear Portugal, nem a Noruega, nem qualquer país sensato o bastante para ficar de fora da corrida nuclear. Qualquer um que use a lógica para pensar a defesa do nosso país sabe que armas nucleares não nos protegem... elas nos põem em perigo. Jasper não tivera a intenção de que seu comentário fosse levado a sério, mas aquela garota levava tudo a sério. Igualmente sentado à mesa, o irmão de 14 anos de Evie, Dave, fabricava miniaturas de bandeiras cubanas. Tinha usado um molde vazado para pintar as listras em folhas de papel grosso e agora prendia as folhas a pequenos palitos de madeira balsa com uma pistola de grampos que pegara emprestada. Apesar de invejar a vida de privilégios do adolescente, cujos pais eram ricos e pouco rigorosos, Jasper se esforçava para ser simpático. – Quantas você vai fazer? – perguntou. – Trezentas e sessenta – respondeu Dave. – Imagino que não seja um número aleatório. – Se não morrermos todos bombardeados hoje à noite, vou vendê-las na passeata de amanhã por seis pence cada. Trezentos e sessenta pence são 180 shillings, ou nove libras, o preço do amplificador de guitarra que quero comprar. Dave tinha tino para negócios. Jasper se lembrou do bar que ele havia montado no intervalo da peça escolar, administrado por adolescentes que trabalhavam na velocidade máxima porque Dave lhes pagava uma comissão. No entanto, era um mau aluno, o último ou um dos últimos da turma em todas as matérias. Lloyd ficava louco com isso e acusava o filho de ser preguiçoso, pois sob outros aspectos Dave parecia inteligente. Mas Jasper achava que a situação era mais complicada. Dave tinha dificuldade para entender qualquer coisa escrita. Sua caligrafia sofrível, cheia de erros e até com letras invertidas, fazia Jasper pensar em seu melhor amigo do ensino fundamental, incapaz de cantar o hino da escola e para quem era difícil ouvir a diferença entre seu zumbido de uma nota só e a melodia que os outros meninos produziam. Da mesma forma, Dave tinha de fazer um esforço de concentração para ver a diferença entre o “d” e o “b”. Ansiava por corresponder às expectativas dos pais muito bemsucedidos, mas ficava sempre aquém. Enquanto grampeava as bandeiras de seis pence, ele obviamente devia estar distraído pensando em outra coisa, pois falou, do nada: – Sua mãe e a minha não deviam ter muita coisa em comum quando se conheceram. – Não tinham mesmo – concordou Jasper. – Daisy Peshkov era filha de um gângster russoamericano. Eva Rothmann era filha de médico em uma família judia de classe média em Berlim, e foi para os Estados Unidos fugindo dos nazistas. Sua mãe acolheu a minha.
– Minha mãe tem um coração gigante – comentou Evie, batizada em homenagem a Eva. – Queria que alguém me mandasse para os Estados Unidos – disse Jasper quase para si mesmo. – Por que não vai para lá e pronto? – indagou Evie. – Aproveite e diga para eles deixarem os cubanos em paz. Jasper não estava nem aí para os cubanos. – Não tenho dinheiro. Mesmo sem pagar aluguel, ele era duro demais para comprar uma passagem para os Estados Unidos. Nessa hora, a mulher do coração gigante entrou na cozinha. Aos 46 anos, Daisy Williams ainda era bonita, com grandes olhos azuis e cabelos louros cacheados. Quando jovem, pensou Jasper, devia ser irresistível. Nessa noite, estava vestida com recato: saia em tom médio de azul, blazer combinando e nenhuma joia. Estava disfarçando a riqueza para poder representar melhor o papel de mulher de político, pensou Jasper, cínico. Ainda tinha um corpo esbelto, embora não tanto quanto antigamente. Ao imaginá-la nua, pensou que Daisy devia ser melhor de cama do que a filha. Devia ser igual a Beep, do tipo que topava tudo. Ficou espantado por se pegar fantasiando com uma mulher da mesma idade de sua mãe. Que bom que as mulheres não conseguiam ler os pensamentos dos homens. – Que imagem bonita – comentou Daisy com afeto. – Três jovens estudando quietinhos. – Seu sotaque ainda era perceptivelmente americano, embora 25 anos morando em Londres o tivessem abrandado. Ela olhou espantada para as bandeiras do filho. – Que raro você se interessar pelas questões mundiais. – Vou vender as bandeiras por seis pence cada. – Eu deveria ter imaginado que os seus esforços não tinham nada a ver com a paz mundial. – Deixo a paz mundial para Evie. Bem-humorada, sua irmã respondeu: – Alguém precisa se preocupar com isso. Talvez estejamos todos mortos antes de a passeata começar, vocês sabem... tudo por causa da hipocrisia dos americanos. Jasper olhou para Daisy, mas ela não pareceu ofendida. Estava acostumada com os comentários éticos cáusticos da filha. – Eu acho que os americanos ficaram bem assustados com os mísseis em Cuba. – Nesse caso, deveriam tentar imaginar como os outros se sentem e tirar seus mísseis da Turquia. – Concordo, e acho que Kennedy errou ao pôr aqueles mísseis lá. Mas existe uma diferença. Aqui na Europa as pessoas estão acostumadas a ter mísseis apontados para elas, de ambos os lados da Cortina de Ferro. Mas o fato de Kruschev mandar mísseis para Cuba em segredo foi uma mudança chocante do status quo. – Nada mais justo. – E a política na prática é diferente da teoria. Mas vejam só como a história se repete: meu
filho é igualzinho ao meu pai, sempre atento à oportunidade de ganhar algum dinheiro, mesmo às portas da Terceira Guerra Mundial. E minha filha é igual a meu tio bolchevique Grigori, decidida a mudar o mundo. Evie ergueu os olhos. – Se ele foi bolchevique, mudou mesmo o mundo. – Mas será que foi para melhor? Lloyd entrou na cozinha. Como seus antepassados mineiros de carvão, tinha baixa estatura e ombros largos. Algo em seu jeito de andar sempre fazia Jasper pensar que ele já tinha sido campeão de boxe. Suas roupas tinham estilo, mas eram um pouco antiquadas: terno preto com trama espinha de peixe bem suave, lenço branco engomado no bolso da frente. O casal estava claramente a caminho de algum compromisso político. – Se você estiver pronta, eu também estou, querida – disse ele para Daisy. – Sobre o que vai ser a reunião? – quis saber Evie. – Cuba – respondeu o pai. – Sobre o que mais poderia ser? – Ele reparou no cartaz. – Estou vendo que você já se decidiu em relação ao assunto. – Não é muito complicado, é? O povo cubano deveria poder escolher o próprio destino... esse não é um princípio democrático básico? Jasper sentiu que uma briga estava se armando. Naquela família, as brigas sempre tinham a ver com política. Entediado com o idealismo de Evie, interrompeu a conversa: – Hank Remington vai cantar “Poison Rain” amanhã na Trafalgar Square. Jovem irlandês que na verdade se chamava Harry Riley, Remington era líder de uma banda pop chamada The Kords. A música, cujo título significava “chuva venenosa”, era sobre poeira radioativa. – Ele é demais – comentou Evie. – Tem o pensamento tão claro! Hank era um de seus heróis. – Ele foi falar comigo – disse Lloyd. A adolescente mudou de tom na mesma hora: – Você não me contou! – Foi hoje. – E o que achou dele? – Um verdadeiro gênio da classe operária. – O que ele queria? – Que eu me levantasse na Câmara dos Comuns e denunciasse Kennedy como instigador da guerra. – E você deveria ter feito isso mesmo! – E se o Partido Trabalhista ganhar as próximas eleições? Suponha que eu vire secretário das Relações Exteriores. Posso ter que ir à Casa Branca pedir apoio a Kennedy para algo que o governo trabalhista queira fazer; uma resolução na ONU contra a discriminação racial na África do Sul, talvez. Kennedy pode se lembrar de como eu o ofendi e me mandar pastar.
– Mesmo assim – insistiu Evie. – Acusar alguém de instigar a guerra em geral não ajuda em nada. Se achasse que isso resolveria essa crise, eu o faria. Mas essa é uma carta que só se pode jogar uma vez, e prefiro guardá-la para quando tiver uma boa mão. Lloyd era um político pragmático, pensou Jasper. Gostava disso. Mas Evie, não. – Eu acho que as pessoas devem se levantar e dizer a verdade – afirmou ela. – Sinto orgulho de ter uma filha assim – comentou Lloyd, sorrindo. – Espero que você passe a vida inteira pensando desse jeito. Mas agora preciso ir explicar a crise para os meus eleitores do East End. – Tchau, meninos. Até mais tarde – disse Daisy. O casal saiu. – Quem ganhou essa discussão? – perguntou Evie. Seu pai, pensou Jasper, de lavada; mas ficou de bico calado.
Foi dominado por uma grande ansiedade que George retornou ao centro de Washington. Até então, todos vinham partindo do pressuposto de que uma invasão de Cuba estaria fadada ao sucesso. Os mísseis FROG de curto alcance mudavam tudo: os soldados americanos agora teriam de enfrentar armas nucleares de combate. Talvez os Estados Unidos vencessem mesmo assim, mas a guerra seria mais árdua e custaria mais vidas, e o desfecho já não era uma certeza. Desceu do táxi na Casa Branca e deu uma passada na assessoria. Maria estava sentada à sua mesa. Ficou feliz ao constatar que ela tinha um aspecto bem melhor do que três dias antes. – Estou bem, obrigada – foi a resposta dela à sua pergunta. George sentiu o coração aliviado com uma pequena preocupação a menos, mas a maior de todas ainda lhe pesava. Ela estava se recuperando fisicamente, mas ele não sabia que danos emocionais poderiam estar sendo causados por seu caso de amor clandestino. Não pôde lhe fazer perguntas mais íntimas, pois ela estava acompanhada por um rapaz negro de paletó de tweed. – Este é Leopold Montgomery – apresentou. – Ele trabalha na Reuters. Veio buscar um release. – Pode me chamar de Lee – disse o jornalista. – Imagino que não haja muitos repórteres negros cobrindo Washington – comentou George. – Eu sou o único. – George Jakes trabalha com Bobby Kennedy – disse Maria. De repente, Lee ficou mais interessado. – Como ele é?
– O emprego é ótimo – respondeu George, esquivando-se da pergunta. – Eu o aconselho principalmente em relação aos direitos civis. Nós tomamos providências legais contra os estados do Sul que impedem negros de votar. – Mas nós precisamos de uma nova Lei de Direitos Civis. – Sem dúvida, irmão. – George se virou para Maria. – Não posso ficar muito tempo. Que bom que você melhorou. – Se estiver indo para o prédio da Justiça, vou com você – disse Lee. George costumava evitar a companhia de jornalistas, mas experimentou um sentimento de camaradagem com Lee. Assim como ele, o rapaz estava tentando conquistar seu lugar na branca Washington e por isso concordou. – Obrigada por vir me ver – falou Maria. – Lee, me ligue se precisar de algum esclarecimento sobre o release, por favor. – Claro. Os dois rapazes saíram do prédio e seguiram pela Pensylvannia Avenue. – O que tem no tal release? – quis saber George. – Apesar de os navios terem revertido o curso, os soviéticos continuam construindo bases de lançamento de mísseis em Cuba, e a todo o vapor. George pensou nas fotografias de reconhecimento aéreo que tinha acabado de ver. Sentiuse tentado a contar a Lee sobre elas. No entanto, por mais que fosse gostar de entregar um furo de reportagem a um jovem jornalista negro, seria uma quebra de sigilo, e ele resistiu ao impulso. – Acho que é isso mesmo – falou, evasivo. – E o governo não parece estar fazendo nada. – Como assim? – É óbvio que a quarentena não está funcionando, e o presidente não está fazendo mais nada. George ficou mordido. Embora não tivesse um cargo importante, fazia parte do governo, e sentiu-se injustamente acusado. – No discurso que fez segunda-feira na TV , o presidente disse que a quarentena era só o começo. – Quer dizer que ele vai fazer mais coisas? – Obviamente foi isso que ele quis dizer. – Mas o quê? Ao perceber que estava sendo pressionado para dar informações, George sorriu. – Preste atenção e verá – respondeu. Quando voltou ao Departamento de Justiça, encontrou Bobby enfurecido. Gritar e atirar objetos pela sala não faziam o estilo do secretário. Sua fúria era fria e cruel, e as pessoas costumavam comentar sobre seu aterrorizante olhar azul. – De quem ele está com tanta raiva? – perguntou George a Dennis Wilson.
– Tim Tedder. Ele despachou três equipes de infiltração para Cuba com seis homens cada uma. E há outras aguardando para partir. – Hein? Por quê? Quem mandou a CIA fazer isso? – Faz parte da Operação Mangusto e, aparentemente, ninguém os mandou parar. – Mas eles sozinhos podem começar a Terceira Guerra Mundial! – É por isso que Bobby está espumando pela boca. Além do mais, eles mandaram uma dupla de agentes explodir uma mina de cobre, e infelizmente perderam o contato com os dois. – Ou seja, os caras a esta altura devem estar na cadeia, desenhando a planta baixa da estação da CIA em Miami para seus interrogadores soviéticos. – Pois é. – Que hora idiota para fazer uma coisa dessas... por vários motivos – continuou George. – Cuba está se preparando para uma guerra. A segurança de Fidel Castro, que já é sempre boa, agora deve estar em alerta máximo. – Exatamente. Bobby vai participar de uma reunião da Mangusto no Pentágono daqui a alguns minutos, e imagino que vá crucificar Tedder. George não foi com Bobby ao Pentágono. Para seu grande alívio, continuava não sendo incluído nas reuniões da Mangusto; a ida a La Isabela o convencera de que a operação toda era criminosa, e ele não queria ter mais nada a ver com aquilo. Sentou-se à sua mesa de trabalho, mas não conseguiu se concentrar. De toda forma, os direitos civis tinham passado para o final da lista de prioridades: ninguém estava pensando na igualdade para os negros naquela semana. George sentia que a crise estava fugindo ao controle do presidente. A contragosto, Kennedy ordenara a interceptação do Marucla. A operação tinha corrido bem, mas o que iria acontecer da próxima vez? E Cuba agora tinha armas nucleares de combate; os Estados Unidos ainda poderiam invadir o país, mas o preço seria alto. Além disso, só para acrescentar mais um elemento de risco, a CIA estava agindo por conta própria. Embora todos estivessem loucos para esfriar os ânimos, o que estava acontecendo era justamente o contrário: uma escalada terrível na crise, algo que ninguém desejava. Mais tarde no mesmo dia, Bobby voltou do Pentágono trazendo a matéria de uma agência de notícias. – Que diabo é isto aqui? – perguntou a seus assessores. Começou a ler o texto: – “Em reação à aceleração da campanha de construção de bases de lançamento de mísseis em Cuba, esperam-se novas ações iminentes do presidente Kennedy...” – Ele ergueu a mão com o dedo apontado para cima. – “... segundo fontes próximas ao secretário da Justiça.” – Correu os olhos pela sala. – Quem deu com a língua nos dentes? – Puta que pariu... – xingou George. Todos olharam para ele. – George, tem alguma coisa para me dizer? – indagou Bobby. George quis que um buraco no chão o engolisse.
– Lamento muito – falou. – Eu só citei o discurso do presidente, que disse que a quarentena era só o começo. – Não se diz esse tipo de coisa a um jornalista! Você deu a ele uma nova matéria. – Puxa, agora eu sei disso. – E escalou a crise exatamente no momento em que estávamos todos tentando acalmar os ânimos. A próxima matéria vai especular sobre que ação o presidente tem em mente. Aí, se ele não fizer nada, vão chamá-lo de hesitante. – Sim, secretário. – Por que você falou com esse tal jornalista? – Eu o conheci na Casa Branca, e ele me acompanhou pela Pensylvannia Avenue. – Essa matéria é da Reuters? – perguntou Dennis Wilson. – É, por quê? – Então deve ter sido Lee Montgomery quem escreveu. George grunhiu. Sabia o que estava prestes a acontecer. Wilson estava fazendo o incidente parecer pior de propósito. – Por que acha isso, Dennis? – perguntou Bobby. Como Wilson hesitou, o próprio George respondeu à pergunta: – Montgomery é negro. – Foi por isso que você falou com ele? – quis saber o secretário. – Acho que eu não quis mandá-lo se catar. – Da próxima vez, é exatamente isso que você vai dizer a ele e a qualquer outro jornalista que tentar arrancar alguma coisa de você. Independentemente da cor da pele. As palavras “da próxima vez” deixaram George aliviado: queriam dizer que ele não seria demitido. – Obrigado. Não vou esquecer. – É melhor não esquecer mesmo. Bobby entrou em sua sala. – Você se safou – comentou Wilson. – Que sorte. – É. Obrigado pela sua ajuda, Dennis – respondeu George, sarcástico. Voltaram todos ao trabalho. George mal conseguia acreditar no que tinha feito. Sem querer, ele também tinha posto lenha na fogueira. Ainda estava deprimido quando a telefonista lhe passou uma chamada interurbana de Atlanta. – Oi, George. É Verena Marquand. – Tudo bem? – disse ele, alegre por ouvir a voz dela. – Estou preocupada. – Você e o mundo todo. – O Dr. King me pediu para ligar para você e perguntar o que está acontecendo. – Vocês provavelmente sabem tanto quanto nós. – Ainda abalado com a bronca do chefe,
ele não queria correr o risco de cometer outra indiscrição. – Quase tudo já saiu nos jornais. – Nós vamos mesmo invadir Cuba? – Só o presidente sabe. – Vai haver uma guerra nuclear? – Nem o presidente sabe. – Estou com saudades, George. Queria poder sentar com você e ficar só conversando, sabe? Isso o deixou espantado. Ele não a conhecia muito bem em Harvard, e fazia seis meses que os dois não se viam. Não sabia que ela gostava tanto dele a ponto de sentir saudades. Não soube o que responder. – O que eu digo ao Dr. King? – Diga que... – George não completou a frase. Pensou em todas as pessoas que cercavam o presidente Kennedy: os generais de cabeça quente que desejavam uma guerra imediata, os homens da CIA sempre bancando James Bond, os jornalistas reclamando de inação quando o presidente se mostrava cauteloso. – Diga a ele que o homem mais inteligente dos Estados Unidos está no comando, e que não podemos pedir nada melhor do que isso. – Está bem – falou Verena, e desligou. George se perguntou quanto acreditava no que acabara de dizer. Queria odiar Jack Kennedy pelo modo como ele tratara Maria, mas será que haveria alguém melhor para lidar com aquela crise? Não. Não conseguia pensar em mais ninguém que tivesse a combinação certa de coragem, sensatez, autocontrole e calma. No final da tarde, depois de atender a um telefonema, Wilson avisou a todos na sala: – Vamos receber uma carta de Kruschev. Vai chegar no Departamento de Justiça. – O que diz a carta? – quis saber alguém. – Não muito, até agora – respondeu Wilson. Olhou para seu bloco de anotações. – Ainda não recebemos tudo. “Vocês nos ameaçam com guerra, mas sabem muito bem que o mínimo que receberiam como resposta seria ter de enfrentar as mesmas consequências...” A carta foi entregue na nossa embaixada em Moscou logo antes das dez da manhã de hoje, no horário daqui. – Dez da manhã?! – exclamou George. – Agora são seis da tarde! Por que tanta demora? Wilson respondeu em um tom condescendente e cansado, como se estivesse farto de explicar procedimentos básicos a principiantes: – Nosso pessoal em Moscou precisa traduzir a carta para o inglês, depois criptografá-la, depois transmiti-la. Quando ela é recebida aqui em Washington, os funcionários do Departamento de Estado precisam quebrar o código e, por fim, datilografá-la. E cada palavra precisa ser verificada três vezes antes de o presidente tomar qualquer atitude. É um processo demorado. – Obrigado – agradeceu George.
Wilson podia ser um babaca convencido, mas era bem informado. Apesar de ser sexta à noite, ninguém iria voltar para casa. A mensagem de Kruschev chegou em pedaços. Como se podia prever, a parte mais importante ficou para o fim. Se os Estados Unidos prometessem não invadir Cuba, “a necessidade da presença de nossos especialistas militares deixaria de existir”. Aquilo era uma proposta de acordo, sem dúvida uma notícia boa. Mas o que significava exatamente? Era de se presumir que os soviéticos retirariam suas armas nucleares de Cuba; nada menos do que isso teria qualquer significado. Mas como os Estados Unidos poderiam prometer jamais invadir a ilha? Será que o presidente americano sequer cogitaria atar as próprias mãos dessa maneira? Kennedy relutaria em desistir por completo da esperança de se livrar de Fidel, pensou George. E como o mundo iria reagir a um acordo assim? Será que iria considerá-lo uma vitória de política externa para Kruschev? Ou diria que Kennedy tinha forçado os soviéticos a recuarem? Aquilo era uma boa notícia ou não? George não conseguia chegar a uma conclusão. Larry Mawhinney passou pela quina da porta sua cabeça de cabelos à escovinha. – Cuba agora tem armas nucleares de curto alcance – falou. – Estamos sabendo. A CIA descobriu ontem. – Isso significa que precisamos ter a mesma coisa – disse Larry. – Como assim? – A força de invasão a Cuba precisa estar equipada com armas nucleares de combate. – Ah, é? – Claro! O Estado-Maior Conjunto está prestes a exigi-las. Você mandaria nossos homens para a batalha menos bem armados do que o inimigo? George entendeu que Larry tinha certa razão, mas a consequência era terrível. – Quer dizer que agora qualquer guerra em Cuba vai ser um conflito nuclear desde o início? – É isso aí – confirmou Larry, e foi embora.
No fim do dia, George passou na casa da mãe. Jacky fez café e lhe serviu um prato de biscoitos. Ele não pegou nenhum. – Estive com Greg ontem – falou. – Como ele está? – Igualzinho. Só que... só que me disse que eu fui a melhor coisa que já aconteceu na vida dele. – Vejam só! – exclamou Jacky em tom descrente. – De onde ele tirou isso? – Queria que eu soubesse quanto se orgulha de mim.
– Ora, ora. Ainda existe algo de bom dentro daquele homem. – Quanto tempo faz que você não vê Lev e Marga? Ela estreitou os olhos, desconfiada. – Por que está me perguntando isso? – Você se dá bem com minha avó Marga. – É porque ela ama você. Uma mãe sente carinho por quem ama seu filho. Quando você for pai, vai entender. – Faz mais de um ano que vocês não se veem... desde a formatura em Harvard. – É verdade. – Você não trabalha nos fins de semana. – O clube fecha aos sábados e domingos. Quando você era pequeno eu precisava do fim de semana livre, para ficar com você quando não estava na escola. – A primeira-dama levou Caroline e John Junior para Glen Ora. – Ah... e você acha que eu devo ir para a minha casa de campo na Virgínia passar uns dias montando meus cavalos, suponho. – Você poderia ir visitar Marga e Lev em Buffalo. – Passar o fim de semana em Buffalo? – estranhou Jacky. – Tenha dó, meu filho! Eu teria que passar o sábado inteiro no trem de ida e o domingo inteiro no de volta. – Você poderia ir de avião. – Não tenho dinheiro para isso. – Eu pago a passagem. – Ai, meu pai do céu... Você acha que os russos vão nos bombardear neste fim de semana, é isso? – Essa possibilidade nunca esteve tão próxima. Vá a Buffalo. Jacky terminou o café, levantou-se e foi até a pia lavar a xícara. – E você? – perguntou depois de alguns instantes. – Eu tenho que ficar aqui e fazer o que puder para evitar que isso aconteça. Decidida, ela fez que não com a cabeça. – Eu não vou a Buffalo. – Eu ficaria muito aliviado se você fosse, mãe. – Se quiser sentir alívio, reze a Deus. – Você conhece aquele ditado árabe? “Confie em Alá, mas amarre o seu camelo.” Se você for a Buffalo, eu rezo. – Como é que você sabe que os russos não vão bombardear Buffalo? – Não tenho como ter certeza, mas eu diria que a cidade é um alvo secundário. E pode ser que esteja fora do alcance dos mísseis de Cuba. – Que defesa fraca para um advogado. – Estou falando sério, mãe. – Eu também. E você é um bom filho por se importar com sua mãe desse jeito. Mas agora
me escute: desde os 16 anos, meu único propósito na vida foi criar você. Se tudo o que fiz for dizimado em uma explosão nuclear, não quero estar viva depois para ficar sabendo. Vou ficar onde você estiver. – Ou nós dois vamos sobreviver, ou vamos morrer juntos. – O Senhor dá e o Senhor toma– disse Jacky, citando a Bíblia. – Bendito seja o nome do Senhor.
Segundo Volodya, o tio de Dimka que trabalhava na Inteligência do Exército Vermelho, os Estados Unidos tinham mais de duzentos mísseis nucleares capazes de atingir a URSS. Os americanos achavam que a União Soviética tinha cerca da metade dessa quantidade de mísseis intercontinentais, dizia ele. Na verdade, o país tinha exatamente 42. E alguns eram obsoletos. Quando os Estados Unidos não responderam imediatamente a sua proposta de acordo, Kruschev ordenou que até os mísseis mais antigos e menos confiáveis fossem preparados para lançamento. Nas primeiras horas da manhã de sábado, Dimka telefonou para a área de teste de mísseis em Baikonur, no Casaquistão. A base militar localizada ali tinha dois R-7 Semyorkas de cinco motores, foguetes obsoletos do mesmo tipo usado para lançar o Sputnik no espaço, cinco anos antes, que atualmente estavam sendo preparados para explorar o planeta Marte. Dimka anulou a expedição a Marte. Os Semyorkas estavam incluídos nos 42 mísseis intercontinentais da URSS, sendo, portanto, necessários para a Terceira Guerra Mundial. Ele deu ordem aos cientistas para que equipassem os dois foguetes com ogivas nucleares e os abastecessem. A preparação para o lançamento levaria vinte horas. Os Semyorkas usavam um propulsor líquido instável, e não podiam ser mantidos em alerta por mais de um dia. Ou seriam usados naquele fim de semana, ou nunca mais. Os foguetes Semyorka muitas vezes explodiam na decolagem. Se isso não acontecesse, contudo, podiam alcançar Chicago. Cada um seria equipado com uma bomba de 2,8 megatons. Se uma dessas bombas acertasse o alvo, causaria destruição em um raio de 12 quilômetros a partir do centro de Chicago, das margens do lago até Oak Park, segundo o atlas de Dimka. Após ter certeza que o oficial encarregado havia entendido as ordens, ele foi dormir.
CAPÍTULO DEZENOVE
O telefone acordou Dimka. Seu coração disparou: seria a guerra? Quantos minutos lhe restariam de vida? Ele arrancou o fone do gancho. Era Natalya. Sempre a primeira a par das notícias, como de hábito, ela disse: – Chegou um despacho telegráfico de Pliyev. O general Pliyev era o comandante das forças soviéticas em Cuba. – Como assim? O que diz? – Eles acham que os americanos vão atacar hoje ao raiar do dia, horário de lá. Ainda estava escuro em Moscou. Dimka acendeu a luz da cabeceira e checou as horas. Eram oito da manhã; já deveria estar no Kremlin. No entanto, ainda faltavam cinco horas para o dia nascer em Cuba. Seu coração se acalmou um pouco. – Como eles sabem? – Não vem ao caso – retrucou Natalya. – O que vem ao caso, então? – Vou ler a última frase da mensagem para você. “Nós decidimos que, na eventualidade de um ataque norte-americano às nossas instalações, vamos empregar todas as formas disponíveis de defesa aérea.” Eles vão usar armas nucleares. – Não podem fazer isso sem a nossa permissão! – Mas é exatamente o que estão propondo. – Malinovski não vai deixar. – Não aposte tanto nisso. Dimka soltou um palavrão entre os dentes. Às vezes os militares pareciam de fato desejar um holocausto nuclear. – Encontro você na cantina. – Me dê meia hora. Dimka tomou uma ducha rápida. Sua mãe lhe ofereceu café da manhã e, como ele não quis, lhe deu um pedaço de pão preto de centeio para levar. – Não esqueça que hoje tem uma festa para o seu avô – lembrou-lhe ela. Grigori estava fazendo 74 anos e haveria um grande almoço no seu apartamento. Dimka prometera levar Nina. Eles estavam planejando surpreender a todos com o anúncio de seu noivado. Só que, se os americanos atacassem Cuba, não haveria festa. Quando ele estava saindo, Anya o deteve: – Fale a verdade. O que vai acontecer? Ele lhe deu um abraço. – Sinto muito, mãe. Eu não sei.
– Sua irmã está lá em Cuba. – Eu sei. – Ela está bem na linha de tiro. – Mãe, os americanos têm mísseis intercontinentais. Todos nós estamos na linha de tiro. Ela o abraçou, em seguida virou as costas. Dimka foi de moto até o Kremlin. Quando chegou ao prédio do Presidium, Natalya o aguardava na cantina. Assim como ele, tinha se vestido às pressas e parecia um pouco desarrumada, mas seus cabelos desalinhados caíam sobre o rosto de um jeito que ele achou encantador. Preciso parar de pensar assim, ordenou a si mesmo; vou fazer a coisa certa: casarme com Nina e criar nosso filho. Perguntou-se o que Natalya diria caso lhe contasse a novidade. Mas não era hora para isso. Tirou do bolso o pedaço de pão de centeio. – Seria bom arrumar um pouco de chá – falou. As portas da cantina estavam abertas, mas ninguém estava servindo ainda. – Ouvi dizer que os restaurantes nos Estados Unidos ficam abertos quando as pessoas querem comer e beber, não quando os funcionários querem trabalhar – comentou Natalya. – Você acha que é verdade? – Deve ser só propaganda – respondeu Dimka, sentando-se. – Vamos redigir um rascunho de resposta para Pliyev – disse ela, abrindo um bloco de notas. Enquanto mastigava, Dimka se concentrou na questão. – O Presidium deveria proibir Pliyev de disparar armas nucleares sem ordens expressas de Moscou. – Eu preferiria proibi-lo de sequer equipar os foguetes com ogivas. Aí as armas não poderiam ser disparadas por acidente. – Bem pensado. Yevgeny Filipov entrou. Estava usando um suéter marrom sob um paletó de terno cinza. – Bom dia, Filipov. Veio me pedir desculpas? – perguntou Dimka. – Desculpas por quê? – Você me acusou de ter deixado vazar o segredo de nossos mísseis em Cuba. Disse inclusive que eu deveria ser preso. Agora sabemos que os mísseis foram fotografados por um avião espião da CIA. Você obviamente me deve profusas desculpas. – Deixe de ser ridículo – disparou Filipov. – Não achávamos que as fotos de grande altitude tiradas por eles mostrariam algo tão pequeno quanto um míssil. O que vocês dois estão tramando? Natalya respondeu a verdade: – Estamos conversando sobre o despacho telegráfico que Pliyev mandou hoje de manhã. – Já falei com Malinovski sobre isso. – Filipov trabalhava para o ministro da Defesa. – Ele concorda com Pliyev.
Dimka ficou horrorizado. – Pliyev não pode ser autorizado a começar a Terceira Guerra Mundial por iniciativa própria! – Ele não vai começar nada. Vai defender nossas tropas de uma agressão americana. – O nível da resposta não pode ser uma decisão local. – Talvez não haja tempo para nada além disso. – Pliyev precisa ganhar tempo, não dar início a um confronto nuclear. – Malinovski acha que precisamos proteger as armas que temos em Cuba. Se elas forem destruídas pelos americanos, isso enfraquecerá nossa capacidade de defender a URSS. Nisso Dimka não tinha pensado. Uma parte significativa do arsenal nuclear soviético estava agora em Cuba. Os americanos poderiam aniquilar todas aquelas armas caras e deixar os soviéticos seriamente enfraquecidos. – Nada disso – discordou Natalya. – Nossa estratégia deve se basear em não usar armas nucleares. Por quê? Porque nós temos poucas em comparação com os americanos. – Ela se inclinou para a frente por cima da mesa da cantina. – Escute aqui, Yevgeny. Se houver uma guerra nuclear de verdade, são eles que vão ganhar. – Tornou a se sentar. – Então nós podemos nos gabar, podemos esbravejar, podemos ameaçar, mas não podemos disparar nossas armas. Para nós, uma guerra nuclear é suicídio. – Não é assim que o ministro da Defesa vê a situação. Natalya hesitou. – Você fala como se uma decisão já tivesse sido tomada. – E foi. Malinovski aceitou a proposta de Pliyev. – Kruschev não vai gostar – comentou Dimka. – Pelo contrário, ele concordou – disse Filipov. Dimka percebeu que o fato de ter ficado acordado até tão tarde na noite anterior o fizera perder as conversas do início da manhã. Isso o punha em situação de desvantagem. Levantouse. – Vamos – disse a Natalya. Os dois saíram da cantina. Enquanto esperavam o elevador, ele tornou a falar: – Que droga. Precisamos reverter essa decisão. – Tenho certeza de que Kosygin vai querer discutir isso no Presidium de hoje. – Por que não datilografa o rascunho da ordem que redigimos e sugere que Kosygin leve para a reunião? Vou tentar convencer Kruschev. – Está bem. Eles se separaram, e Dimka foi até a sala de Kruschev. O primeiro-secretário estava lendo as traduções de matérias de jornais ocidentais, cada qual grampeada ao texto original. – Você já leu o artigo de Walter Lippmann? Lippmann era um colunista americano sindicalizado, de opiniões liberais. Dizia-se que era próximo de Kennedy.
– Não. – Dimka ainda não tinha olhado os jornais. – Ele está propondo uma troca: nós retiramos nossos mísseis de Cuba, e eles retiram os deles da Turquia. É uma mensagem de Kennedy para mim! – Lippmann é só um jornalista... – Não, nada disso. Ele é um porta-voz do presidente. Dimka duvidava que a democracia americana funcionasse assim, mas não falou nada. O premiê prosseguiu: – Ou seja, se propusermos essa troca, Kennedy vai aceitar. – Mas nós já pedimos outra coisa: que eles prometam não invadir Cuba. – Então vamos deixar Kennedy na dúvida! Com certeza vamos deixá-lo confuso, pensou Dimka, mas era esse o jeito de Kruschev. Para que ser coerente? Isso apenas facilitava a vida do inimigo. Dimka mudou de assunto: – Durante o Presidium, vai haver perguntas sobre a mensagem de Pliyev. Dar a ele o poder de disparar armas nucleares... – Não se preocupe – disse Kruschev com um aceno desdenhoso. – Os americanos não vão atacar agora. Estão até conversando com o secretário-geral da ONU. Eles querem a paz. – Claro – respondeu Dimka, deferente. – Contanto que o senhor saiba que o assunto vai surgir. – Sim, sim, eu sei. Minutos depois, os líderes soviéticos se reuniram entre as paredes revestidas de madeira da Sala do Presidium. Kruschev abriu a reunião com um longo discurso argumentando que a hora para um ataque americano havia passado. Então expôs o que chamou de Proposta de Lippmann, causando pouco entusiasmo ao redor da mesa, mas tampouco qualquer oposição. A maioria dos presentes percebia que o líder precisava conduzir a diplomacia à sua própria maneira. Kruschev estava tão animado com a nova ideia que ditou sua carta para Kennedy ali mesmo, durante a reunião, enquanto os outros escutavam. Então ordenou que o texto fosse lido na Rádio Moscou. Assim, a embaixada americana poderia encaminhá-la para Washington sem a demorada obrigação de criptografá-la. Por fim, Kosygin levantou a questão da mensagem de Pliyev. Seu argumento foi que o controle das armas nucleares deveria permanecer em Moscou, e ele leu em voz alta o rascunho da ordem ao general redigido por Dimka e Natalya. – Sim, sim, podem mandar – falou Kruschev, impaciente, e Dimka respirou mais aliviado. Uma hora depois, Dimka subia com Nina o elevador da Casa do Governo. – Vamos tentar esquecer nossas preocupações por um instante – disse ele. – Nada de falar sobre Cuba. Estamos indo para uma festa, vamos nos divertir. – Por mim está ótimo – concordou Nina. Eles foram para o apartamento dos avós de Dimka. Katerina os recebeu na porta, de
vestido vermelho. Dimka ficou espantado ao ver que a saia era na altura dos joelhos, como mandava a última moda ocidental, e que sua avó ainda tinha pernas esguias. Ela havia morado no Ocidente quando o marido trabalhava no circuito diplomático e aprendera a se vestir com mais estilo do que a maioria das soviéticas. Com a curiosidade despudorada dos mais velhos, Katerina olhou Nina de cima a baixo. – Você está ótima – falou, e Dimka se perguntou por que o tom de voz da avó soava um pouco estranho. Nina interpretou aquilo como um elogio. – Obrigada, a senhora também. Onde arrumou esse vestido? Ela os conduziu até a sala. Dimka se lembrava de frequentar aquele apartamento quando criança. Sua avó sempre lhe oferecia um doce tradicional russo chamado belev, à base de maçã. Ficou com água na boca: bem que gostaria de comer um pedaço agora. Katerina lhe pareceu um pouco instável sobre os sapatos de salto. Sentado na espreguiçadeira em frente à TV como era seu costume, apesar de o aparelho estar desligado, Grigori já tinha aberto uma garrafa de vodca. Talvez por isso sua mulher estivesse um pouco trôpega. – Parabéns, vô – falou Dimka. – Beba alguma coisa – disse Grigori. Dimka precisava tomar cuidado. Bêbado, não teria serventia alguma para Kruschev. Esvaziou de uma talagada só o copo de vodca que o avô lhe entregou, em seguida pousou-o fora do seu alcance, para evitar que ele tornasse a enchê-lo. Anya já tinha chegado para ajudar a mãe e veio da cozinha trazendo uma bandeja de biscoitos salgados com caviar vermelho. Não havia herdado o senso de estilo de Katerina, e sempre parecia roliça e à vontade, não importava o que estivesse vestindo. Ela cumprimentou Nina com um beijo. A campainha tocou, e Volodya entrou acompanhado pela família. Aos 48 anos, tinha os cabelos curtos já grisalhos. Estava de uniforme: podia ser convocado a qualquer momento. Sua mulher Zoya, que entrou logo atrás, beirava os 50, mas ainda era uma pálida deusa russa. Atrás do casal vieram seus dois filhos adolescentes, Kotya e Galina. Ele apresentou Nina. Tanto Volodya quanto Zoya a cumprimentaram calorosamente. Olhou em volta: para o casal de idade avançada que havia iniciado aquilo tudo; para a mãe sem graça e o belo tio de olhos azuis; para a linda tia e os primos adolescentes; e para a voluptuosa ruiva que estava prestes a desposar. Aquela era a sua família, a parte mais preciosa de tudo o que iria se perder naquele dia caso seus temores se concretizassem. Todas aquelas pessoas viviam a menos de um quilômetro e meio do Kremlin. Se os americanos disparassem armas nucleares contra Moscou naquela noite, estariam todas mortas pela manhã, com os miolos cozidos, os corpos esmagados, a pele estorricada. E seu único consolo era que não precisaria pranteá-los, pois também estaria morto. Todos beberam em homenagem ao aniversário do patriarca.
– Queria que meu irmãozinho Lev estivesse aqui... – comentou Grigori. – E Tanya – completou Anya. – Lev Peshkov não é mais tão pequeno assim, pai – falou Volodya. – Ele tem 67 anos e é milionário nos Estados Unidos. – Será que ele tem netos lá? – Nos Estados Unidos, não – respondeu Volodya. Dimka sabia que era fácil para a Inteligência do Exército Vermelho descobrir aquele tipo de coisa. – Greg, o filho ilegítimo de Lev que é senador, continua solteiro. Mas sua filha legítima, Daisy, mora em Londres e tem dois filhos adolescentes, um menino e uma menina, mais ou menos da mesma idade de Kotya e Galina. – Quer dizer então que eu tenho sobrinhos-netos britânicos – refletiu Grigori com um ar satisfeito. – Como eles se chamam? – David e Evie – falou Volodya. – Era eu que deveria ter ido para os Estados Unidos, sabiam? Mas na última hora dei minha passagem para Lev. Ele começou a relembrar o passado. Todos já tinham ouvido aquela história, mas ouviram de novo, felizes em deixá-lo dizer o que quisesse no dia do seu aniversário. Depois de alguns instantes, Volodya chamou Dimka de lado e perguntou: – E o Presidium de hoje de manhã, como foi? – Eles ordenaram a Pliyev que não disparasse nenhuma arma nuclear sem ordens expressas do Kremlin. Volodya deu um grunhido desanimado. – Que perda de tempo... – Por quê? – perguntou Dimka, espantado. – Não vai fazer diferença. – Está dizendo que Pliyev vai desobedecer às ordens? – Acho que qualquer comandante faria isso. Você nunca participou de nenhuma batalha, não é? – Volodya perscrutou o sobrinho com os penetrantes olhos azuis. – Quando está sendo atacado, lutando pela própria vida, você se defende com qualquer coisa que aparecer pela frente. É visceral, não dá para controlar. Se os americanos invadirem Cuba, nossas forças lá vão partir com tudo para cima deles, independentemente das ordens de Moscou. – Puta merda! Se o tio estivesse certo, todos os esforços daquela manhã teriam sido em vão. A história de Grigori já havia terminando, e Nina tocou o braço de Dimka. – Agora talvez seja uma boa hora. Dimka tomou a palavra e se dirigiu aos parentes reunidos: – Agora que já honramos o aniversário do meu avô, tenho um comunicado a fazer. Silêncio, por favor. – Ele esperou os adolescentes pararem de falar. – Pedi Nina em casamento, e ela disse sim.
Todos deram vivas. Uma nova rodada de vodca foi servida, mas dessa vez ele conseguiu não beber. Anya lhe deu um beijo. – Muito bem, filho. Ela não queria se casar... até conhecer você! – Quem sabe vou ter meus próprios bisnetos em breve? – brincou Grigori, e piscou o olho para Nina de forma exagerada. – Pai, não constranja a pobre moça! – protestou Volodya. – Constranger? Que bobagem. Nina e eu somos amigos. – Não precisa se preocupar – comentou Katerina, a essa altura já embriagada. – Ela já está grávida. – Mãe! – exclamou Volodya. – Uma mulher sabe essas coisas – disse Katerina, dando de ombros. Então era por isso que sua avó tinha olhado Nina de cima a baixo com tanta atenção quando eles haviam entrado, pensou Dimka. Viu Volodya e Zoya trocarem um olhar: seu tio arqueou uma sobrancelha, Zoya meneou a cabeça de leve, e Volodya formou um breve “ah!” com os lábios. Anya exibia uma expressão chocada. – Mas você me falou que... – começou a dizer para Nina. – Eu sei – interrompeu Dimka. – Nós pensávamos que Nina não pudesse ter filhos. Mas os médicos estavam errados! Grigori ergueu mais um brinde. – Um viva aos médicos que erram! Eu quero um menino, Nina, um bisneto para perpetuar a dinastia dos Peshkov-Dvorkin! Ela sorriu. – Farei o possível, Grigori Sergueievitch. Anya continuava com ar preocupado. – Os médicos erraram? – A senhora sabe como são os médicos, eles nunca admitem que erraram – falou Nina. – Disseram que é um milagre. – Só espero estar vivo para conhecer meu bisneto – falou Grigori. – Os americanos que vão para o inferno! – E bebeu mais um pouco. Kotya, adolescente de 16 anos, entrou na conversa: – Por que os americanos têm mais mísseis do que nós? Quem respondeu foi Zoya: – Em 1940, quando nós, cientistas, começamos a trabalhar com energia nuclear e dissemos ao governo que ela poderia ser usada para criar uma bomba superpoderosa, Stalin não acreditou. Então o Ocidente passou na frente da URSS e continua na frente até hoje. É isso que acontece quando os governos não ouvem os cientistas. – Mas não repita na escola o que a sua mãe está dizendo, ouviu bem? – acrescentou
Volodya. – Que importância tem isso? – indagou Anya. – Stalin matou metade de nós, e agora Kruschev vai matar a outra metade. – Anya! – repreendeu Volodya. – Não na frente das crianças! – Estou com pena de Tanya – continuou ela, ignorando as reprimendas do irmão. – Lá em Cuba, esperando os americanos atacarem... – Ela começou a chorar. – Queria ter visto minha linda menina de novo – falou, as lágrimas escorrendo subitamente pelas faces. – Mais uma vezinha só, antes de morrermos.
Na manhã de sábado, os Estados Unidos estavam prontos para atacar Cuba. Larry Mawhinney deu os detalhes a George na Sala de Crise no subsolo da Casa Branca. Kennedy chamava aquilo lá de pocilga, pois achava o recinto apertado. Mas isso era porque tinha sido criado em casas espaçosas; o conjunto de salas era maior do que o apartamento de George. Segundo Mawhinney, a Força Aérea tinha 576 aviões, em cinco bases diferentes, prontos para o ataque aéreo que transformaria Cuba em uma terra devastada e fumegante. O Exército havia mobilizado 150 mil soldados para a invasão que ocorreria em seguida. A Marinha tinha 26 destróieres e três porta-aviões rondando a ilha. Ele informou isso tudo com orgulho, como se fosse um feito pessoal seu. Na opinião de George, Mawhinney estava falando com uma desenvoltura excessiva. – Nenhuma dessas coisas vai adiantar nada contra mísseis nucleares – comentou. – Felizmente, nós também temos os nossos mísseis – respondeu o outro. Como se isso resolvesse a situação. – E como exatamente eles são disparados? – quis saber George. – Quero dizer, o que o presidente precisa fazer, fisicamente? – Ligar para a sala do Estado-Maior Conjunto, no Pentágono. O telefone dele no Salão Oval tem um botão vermelho que faz a ligação na hora. – E o que ele precisa dizer? – Ele tem uma pasta preta com uma série de códigos que deve usar. Carrega essa pasta por todo lado. – E aí... – É automático. Existe um programa chamado Plano Operacional Único Integrado. Nossos bombardeiros e mísseis decolam com cerca de três mil armas nucleares em direção a milhares de alvos no bloco comunista. – Mawhinney fez um gesto de quem amassa. – Riscados do mapa – falou, com deleite. George não estava acreditando muito naquela atitude. – E eles fazem a mesma coisa conosco.
Mawhinney fez cara de contrariado. – Olhe aqui, se nós atacarmos primeiro, podemos destruir a maioria das armas nucleares deles antes que saiam do chão. – Mas não é provável que ataquemos primeiro, porque não somos bárbaros e não queremos dar início a uma guerra nuclear que vai matar milhões de pessoas. – É aí que vocês, políticos, erram. O jeito de ganhar é atacando primeiro. – Mesmo que façamos o que vocês querem, nós só vamos destruir a maioria das armas deles, você disse. – Obviamente não vamos conseguir dar cabo de todas. – Então, aconteça o que acontecer, os Estados Unidos vão sofrer um ataque nuclear. – Guerra não é um piquenique – disse Mawhinney, zangado. – Se evitarmos a guerra, poderemos continuar a fazer piqueniques. Larry olhou para o relógio. – ComEx às dez – falou. Os dois saíram da Sala de Crise e subiram para a Sala do Gabinete. Os conselheiros mais velhos do presidente estavam se reunindo ali com seus assessores. Kennedy chegou alguns minutos depois das dez. Era a primeira vez que George o via desde o aborto de Maria. Encarou o presidente com novos olhos: aquele homem de meia-idade, vestido com um terno escuro risca de giz, tinha trepado com uma jovem e a deixado ir ao médico fazer um aborto sozinha. George sentiu uma onda de raiva pura e corrosiva. Naquele momento, poderia ter matado Jack Kennedy. Ao mesmo tempo, o presidente não parecia mau. Estava carregando nas costas as preocupações do mundo inteiro, e George, mesmo a contragosto, também sentiu uma pontada de empatia. Como de hábito, McCone, diretor da CIA, iniciou a reunião com um resumo de inteligência. Com seu costumeiro tom soporífero, deu notícias assustadoras o bastante para manter todos bem acordados. Cinco bases de mísseis de médio alcance em Cuba estavam agora inteiramente operacionais. Cada uma tinha quatro mísseis, de modo que havia agora vinte armas nucleares apontadas para os Estados Unidos e prontas para serem disparadas. Pelo menos uma delas devia ter por alvo aquele prédio, pensou George, sombrio, e sentiu a barriga se contrair de medo. McCone sugeriu uma vigilância permanente das bases. Oito jatos da Marinha estavam prontos para decolar de Key West e sobrevoar as bases de lançamento em baixa altitude. Outros oito fariam o mesmo circuito à tarde. Quando escurecesse, voltariam e lançariam sobre o local sinais luminosos. Além disso, os voos de reconhecimento em grande altitude dos U-2 iriam continuar. George se perguntou de que iria adiantar tudo aquilo. Os sobrevoos talvez conseguissem detectar alguma atividade pré-lançamento, mas o que os Estados Unidos poderiam fazer em relação a isso? Mesmo que os bombardeiros americanos decolassem imediatamente, não
conseguiriam chegar a Cuba antes de os mísseis serem lançados. Havia também outro problema. Além dos mísseis nucleares apontados para os Estados Unidos, o Exército Vermelho em Cuba tinha mísseis terra-ar destinados a abater aeronaves. Todas as 24 baterias desses mísseis estavam operacionais, informou McCone, e seu equipamento de radar já fora ligado. Ou seja: aviões americanos que sobrevoassem Cuba seriam agora identificados e selecionados como alvos. Um assessor entrou na Sala do Gabinete com uma comprida folha de papel arrancada de um teletipo e a entregou a Kennedy. – É da Associated Press em Moscou – falou o presidente, e começou a ler o texto em voz alta: – O premiê Kruschev disse ontem ao presidente Kennedy que vai retirar suas armas ofensivas de Cuba se os Estados Unidos retirarem seus foguetes da Turquia. – Ele não disse isso – falou Mac Bundy, conselheiro de segurança nacional. George ficou tão confuso quanto os outros. A carta de Kruschev na véspera exigia que os Estados Unidos prometessem não invadir Cuba; não falava nada sobre a Turquia. Será que a Associated Press tinha cometido algum erro? Ou seria aquele mais um dos truques habituais do premiê russo? – Talvez ele esteja prestes a mandar outra carta – sugeriu Kennedy. No fim das contas, foi isso que aconteceu, e nos minutos seguintes novas notícias deixaram a situação mais clara: Kruschev estava fazendo uma proposta inteiramente nova, que havia divulgado na Rádio Moscou. – Ele nos colocou em situação delicada – disse Kennedy. – A maioria das pessoas consideraria essa proposta bem razoável. A ideia não agradou a Mac Bundy. – Quem é “a maioria das pessoas”, presidente? – Acho que vocês vão ter dificuldades para explicar por que nós queremos realizar ações militares hostis em Cuba quando eles estão dizendo: “Se vocês tirarem os seus da Turquia, nós tiramos os nossos de Cuba.” Acho que esse é um ponto muito delicado. Bundy defendeu que se voltasse à primeira proposta de Kruschev. – Por que seguir por esse caminho se ele nos ofereceu aquele outro nas últimas 24 horas? Impaciente, Kennedy falou: – Porque essa é a posição nova e mais recente deles... além de ser pública. A imprensa ainda não sabia sobre a carta de Kruschev, mas aquela nova proposta tinha sido por meio da mídia. Bundy insistiu. Os aliados americanos na OTAN se sentiriam traídos se os Estados Unidos trocassem mísseis, afirmou. Bob McNamara, secretário de Defesa, expressou o assombro e o medo que todos eles sentiam: – Nós recebemos uma proposta na carta e agora temos outra diferente. Como podemos negociar com alguém que muda a proposta antes de termos tido uma chance de responder?
Ninguém soube dizer.
No sábado, os flamboyants das ruas de Havana desabrocharam com flores vermelho-vivo feito manchas de sangue no céu. De manhã bem cedo, Tanya foi ao mercado e, desanimada, providenciou mantimentos para o fim do mundo: carne defumada, latas de leite, queijo processado, um pacote de cigarros, uma garrafa de rum e pilhas novas para sua lanterna. Embora o dia mal houvesse raiado, já havia uma fila, mas ela só precisou esperar quinze minutos, o que não era nada para alguém acostumado com as filas de Moscou. Um ar de apocalipse pairava sobre as ruas estreitas da cidade antiga. Os habaneros já não brandiam machadinhas nem cantavam o hino nacional. Em vez disso, juntavam areia em baldes para apagar incêndios, colavam papel nas vidraças para minimizar os estilhaços, arrastavam sacos de farinha. Tinham feito a besteira de desafiar seu vizinho superpoderoso e agora seriam punidos. Deveriam ter pensado melhor. Será que estavam certos? Seria a guerra inevitável? Tanya tinha certeza de que nenhum líder mundial desejava realmente isso, nem mesmo Fidel, que estava começando a soar quase como um maluco. Mas mesmo assim poderia haver guerra. Pensou com pessimismo nos acontecimentos de 1914. Na época, ninguém queria uma guerra também, mas aí o imperador austríaco tinha visto a independência da Sérvia como uma ameaça, da mesma forma que Kennedy agora via a independência de Cuba como ameaça. E, quando a Áustria declarou guerra à Sérvia, as peças de dominó foram caindo com uma inevitabilidade mortal até metade do planeta estar envolvida no conflito mais cruel e sangrento que o mundo já vira. Com certeza isso poderia ser evitado agora, ou não? Pensou em Vasili Yenkov, confinado em um campo de prisioneiros na Sibéria. Ironicamente, ele tinha chances de sobreviver a um conflito nuclear. A punição talvez salvasse sua vida. Ela torceu por isso. De volta ao apartamento, ligou o rádio, sintonizado em uma das estações americanas transmitidas da Flórida. A notícia era que Kruschev tinha feito uma proposta a Kennedy: iria retirar os mísseis de Cuba se Kennedy fizesse o mesmo na Turquia. Tanya olhou para o leite enlatado com uma sensação de alívio avassaladora. Talvez no fim das contas não fosse precisar daqueles mantimentos de emergência. Disse a si mesma que era cedo demais para se sentir segura. Será que Kennedy iria aceitar? Será que se mostraria mais sensato do que o ultraconservador imperador Francisco José, da Áustria? Um carro buzinou lá fora. Tempos antes, ela havia combinado ir com Paz de avião até a ponta oriental de Cuba nesse dia, para escrever sobre uma bateria antiaérea soviética. Não esperava que ele fosse mesmo aparecer, mas ao olhar pela janela viu sua caminhonete Buick
parada junto ao meio-fio, com os limpadores de para-brisa se esfalfando para dar conta de uma tempestade tropical. Pegou a capa de chuva e saiu. – Você viu o que o nosso líder fez? – perguntou ele, zangado, assim que ela entrou no carro. A raiva dele a espantou. – Está falando sobre a proposta da Turquia? – Ele nem sequer nos consultou! Paz arrancou com o carro e pôs-se a dirigir depressa demais pelas ruas estreitas. Tanya nem pensara se os líderes cubanos deveriam participar ou não das negociações. Ao que tudo indicava, Kruschev tampouco achara essa cortesia necessária. O mundo via aquela crise como um conflito de superpotências, mas é claro que os cubanos ainda achavam que era tudo por causa deles. E aquela tênue proposta de paz lhes parecia uma traição. Ela precisava acalmar Paz, nem que fosse para evitar um acidente na estrada. – O que teria dito se Kruschev tivesse consultado você? – Que não vamos trocar a nossa segurança pela da Turquia! – respondeu ele, batendo no volante. As armas nucleares não tinham proporcionado segurança a Cuba, refletiu ela. Muito pelo contrário: a soberania do país estava agora mais ameaçada do que nunca. Mas decidiu não enfurecer ainda mais o general mencionando isso. Ele guiou o Buick até uma pista de pouso nos arredores de Havana, onde o avião os aguardava: uma aeronave de transporte leve soviética Yakovlev modelo Yak-16, movida a hélice. Tanya a observou com interesse. Nunca tivera a intenção de se tornar correspondente de guerra, mas, para evitar parecer ignorante, tinha se esforçado bastante para aprender coisas que os homens sabiam, sobretudo a identificar aeronaves, tanques e navios. Aquela era a versão militar do Yak, constatou, com uma metralhadora instalada em uma torreta semiesférica no topo da fuselagem. Os dois compartilharam a cabine de dez lugares com dois majores do 32o Regimento Aéreo de Caça, o GIAP; ambos trajavam as camisas quadriculadas chamativas e as calças largas de boca estreita fornecidas aos soldados soviéticos em uma canhestra tentativa de fazê-los passar por cubanos. A decolagem foi excessivamente emocionante: era temporada de chuvas no Caribe, e os ventos também estavam fortes. Quando eles conseguiam vislumbrar a terra lá embaixo pelas brechas nas nuvens, tudo o que viam era uma colagem de retalhos marrons e verdes toda riscada por linhas tortas de estradas de terra. O aviãozinho passou duas horas sendo sacudido pela tempestade. Então o céu clareou, com a rapidez característica das mudanças de tempo nos trópicos, e eles aterrissaram sem sobressaltos perto da cidade de Banes. Foram recebidos por um coronel do Exército Vermelho chamado Ivanov, que já estava informado sobre Tanya e a matéria que ela estava escrevendo. Ele os levou de carro até uma base de mísseis antiaéreos, aonde chegaram às dez da manhã, horário de Cuba.
A base tinha o formato de uma estrela de seis pontas, com o centro de comando no meio e os pontos de lançamento nas extremidades. Ao lado de cada lançador havia um reboque, em cima do qual estava montado um único míssil terra-ar. Os soldados tinham um ar desolado dentro de suas trincheiras alagadas. No posto de comando, oficiais observavam atentamente telas verdes de radar que emitiam bipes monótonos. Ivanov os apresentou ao major responsável pela bateria, visivelmente tenso; sem dúvida teria preferido não receber a visita de VIPs em um dia como aquele. Alguns minutos depois de chegarem, uma aeronave estrangeira foi localizada entrando no espaço aéreo cubano em grande altitude, uns 300 quilômetros a oeste, e foi identificada como Alvo No 33. Como todos falavam russo, Tanya precisou traduzir para Paz. – Deve ser um avião espião U-2 – comentou ele. – Nenhum outro voa tão alto. Tanya ficou desconfiada. – Isso é uma simulação? – perguntou a Ivanov. – Estávamos planejando simular alguma coisa para vocês verem – respondeu ele. – Mas isso é para valer. Ele parecia tão aflito que Tanya acreditou. – Não vamos abater o avião, vamos? – indagou. – Não sei. – Que arrogância a desses americanos! – esbravejou Paz. – Sobrevoar nossas terras assim! O que eles diriam se um avião cubano sobrevoasse Fort Bragg? Imaginem como ficariam indignados! O major ordenou um alerta de combate, e os soldados soviéticos começaram a transferir os mísseis dos reboques para os lança-mísseis e a conectar os cabos. Fizeram tudo de modo calmo, eficiente, e Tanya supôs que tivessem treinado muitas vezes. Um capitão acompanhava em um mapa o curso do U-2. Cuba era uma ilha comprida e estreita, com 1.250 quilômetros de leste a oeste, mas apenas com 80 a 160 quilômetros de norte a sul. Tanya viu que a aeronave espiã já tinha avançado 80 quilômetros pelo espaço aéreo do país. – A que velocidade esses aviões voam? – perguntou. – Oitocentos quilômetros por hora – respondeu Ivanov. – E a que altitude? – Vinte e um mil metros, mais ou menos o dobro da altitude normal de um jato comercial. – Podemos mesmo atingir a essa distância um alvo que esteja se movendo tão depressa? – Não precisamos que o tiro seja certeiro. O míssil tem um fusível de proximidade. Quando chega perto, explode. – Eu sei que selecionamos esse avião como um alvo, mas, por favor, me diga que não vamos mesmo atirar nele. – O major está ligando para pedir instruções.
– Mas os americanos podem retaliar! – A decisão não é minha. O radar acompanhava o avião intruso, e um tenente leu em uma tela as informações de altitude, velocidade e distância. Do lado de fora do posto de comando, os artilheiros soviéticos ajustaram a mira dos lança-mísseis no curso do Alvo No 33. O U-2 atravessou Cuba de norte a sul, em seguida virou para leste e passou a seguir o litoral, chegando cada vez mais perto de Banes. Do lado de fora, os lança-mísseis giraram devagar nas bases pivotantes para acompanhar o alvo, feito lobos farejando o ar. – E se eles dispararem por acidente? – perguntou Tanya a Paz. Não era nisso que ele estava pensando. – Ele está fotografando as nossas bases! – falou. – Essas fotos vão ser usadas para guiar seu Exército quando nos invadirem... o que pode acontecer em poucas horas. – É muito mais provável a invasão acontecer se vocês matarem um piloto americano! Com o telefone colado à orelha, o major observava o radar que controlava os disparos. Ergueu os olhos para Ivanov e disse: – Eles estão confirmando com Pliyev. Tanya sabia que Pliyev era o comandante em chefe soviético em Cuba, mas com certeza ele não podia abater um avião americano sem autorização de Moscou, ou podia? O U-2 chegou à ponta no extremo sul de Cuba e virou, seguindo agora o litoral norte. Banes ficava perto da costa. O curso do U-2 faria o avião passar bem em cima da cidade. A qualquer momento, porém, ele poderia virar para o norte, e a uma velocidade de cerca de seiscentos metros por segundo sairia rapidamente de alcance. – Derrubem ele! – falou Paz. – Agora! Todos o ignoraram. O avião virou para o norte. Embora a 20 mil metros de altitude, estava quase exatamente acima da bateria antiaérea. Só mais alguns segundos, por favor, pensou Tanya, rezando para não sabia que deus. Ela, Paz e Ivanov encaravam o major, que encarava a tela. O único barulho no recinto eram os bipes do radar. O major então disse: – Sim, senhor. Qual teria sido a ordem? Um adiamento ou a destruição? Sem largar o telefone, o major disse a seus homens no recinto: – Destruam o alvo No 33. Disparem dois mísseis. – Não! – gritou Tanya. Um rugido soou. Ela olhou pela janela. Um míssil se desprendeu do lança-mísseis e partiu em um piscar de olhos. Outro o seguiu instantes depois. Tanya levou uma das mãos à boca, com medo de vomitar de tanto medo. Os mísseis levariam cerca de um minuto para alcançar uma altitude de vinte mil metros.
Algo poderia sair errado, pensou. Os mísseis poderiam apresentar algum defeito, desviar da trajetória e aterrissar no mar sem fazer mal a ninguém. Na tela do radar, dois pontinhos foram se aproximando de um pontinho maior. Tanya rezou para que errassem. Os pontinhos avançaram depressa, e então os três convergiram. Paz soltou um grito de triunfo. Então uma chuva de pontinhos menores se espalhou pela tela. Ao telefone, o major disse: – Alvo No 33 destruído. Tanya olhou pela janela como se esperasse ver o U-2 despencando até o chão. – Na mosca. Parabéns a todos – disse o major, mais alto. – E o que será que Kennedy vai fazer conosco agora? – indagou Tanya.
No sábado à tarde, George ainda estava cheio de esperança. As mensagens de Kruschev eram incoerentes e confusas, mas o líder soviético parecia estar buscando uma saída para a crise. E Kennedy certamente não queria a guerra. Com boa vontade de ambos os lados, um fracasso parecia inconcebível. A caminho da Sala do Gabinete, George passou na assessoria de imprensa e encontrou Maria em sua mesa. Ela usava um vestido cinza elegante, mas tinha uma faixa rosa-choque na cabeça, como para anunciar ao mundo que estava feliz e bem. George resolveu não perguntar como estava de fato: era óbvio que ela não queria ser tratada como uma inválida. – Muito ocupada? – indagou. – Estamos esperando a resposta do presidente a Kruschev – disse ela. – Como a proposta soviética foi feita em público, partimos do princípio de que a resposta americana será divulgada para a imprensa. – É essa a reunião da qual vou participar com Bobby – falou George. – Nós vamos redigir um rascunho da resposta. – Trocar os mísseis de Cuba pelos da Turquia parece uma proposta razoável – observou ela. – Ainda mais se levarmos em conta que talvez salve a vida de todos nós. – Amém. – Quem fala assim é a sua mãe. Ele riu e seguiu seu caminho. Na Sala do Gabinete, conselheiros e assessores já haviam começado a se reunir para o ComEx das quatro da tarde. No meio de um grupo de assessores militares junto à porta, Larry Mawhinney dizia: – Não podemos aceitar que deem a Turquia de bandeja aos comunistas! Em seu íntimo, George deu um grunhido. Os militares viam tudo como um combate de vida ou morte. Na verdade, ninguém iria entregar a Turquia de bandeja. A proposta era retirar de lá
alguns mísseis que de toda forma já estavam obsoletos. Será que o Pentágono se oporia mesmo a um acordo de paz? Ele mal conseguia acreditar. Kennedy entrou e foi ocupar seu lugar de sempre, no meio da mesa comprida, com as grandes janelas logo atrás. Todos tinham cópias de um rascunho de resposta, redigido um pouco mais cedo, dizendo que os Estados Unidos não podiam conversar sobre os mísseis da Turquia antes de a crise de Cuba estar resolvida. O presidente não tinha gostado dos termos usados na sua resposta a Kruschev. – Estamos rejeitando a mensagem dele – reclamou. “Ele” sempre se referia ao premiê russo; Kennedy via aquela situação como um conflito pessoal. – Não vai dar certo. Ele vai anunciar que nós rejeitamos a proposta. Nossa posição deveria ser que estamos muito dispostos a discutir essa questão, contanto que tenhamos uma indicação firme de que eles cessaram suas operações em Cuba. – Isso realmente apresenta a Turquia como uma moeda de troca – comentou alguém. – É esse o meu medo – disse o conselheiro de segurança nacional, Mac Bundy. Com os cabelos já ralos embora tivesse apenas 49 anos, ele vinha de uma família republicana e tinha tendência a ser linha-dura. – Se dermos a entender à OTAN e nossos outros aliados que queremos fazer essa troca, aí estaremos mesmo encrencados. George desanimou: Bundy estava se posicionando junto com o Pentágono e contra um acordo. – Se dermos mostras de estar trocando a defesa da Turquia por uma ameaça a Cuba, vamos ter de enfrentar um declínio radical na eficácia da aliança – prosseguiu Bundy. O problema era esse, percebeu George. Os mísseis Júpiter podiam até ser obsoletos, mas simbolizavam a determinação americana de resistir ao avanço do comunismo. Kennedy não se deixou convencer pelas palavras de Bundy. – É nesse sentido que a situação está avançando, Mac. – A justificativa para essa mensagem é que esperamos que ela seja rejeitada – insistiu Bundy. Sério?, pensou George. Tinha quase certeza de que o presidente e seu irmão não pensavam assim. – Estamos prevendo uma ação contra Cuba para amanhã ou depois – continuou Bundy. – Qual é nosso plano militar? Não era assim que George pensava que a reunião fosse correr. Eles deveriam estar falando sobre paz, não sobre guerra. Quem respondeu à pergunta foi McNamara, o menino-prodígio da Ford: – Um grande ataque aéreo que vai conduzir à invasão em si. – Ele então voltou a falar na Turquia: – Para minimizar a resposta soviética caso a OTAN apoie um ataque americano a Cuba, nós podemos tirar os mísseis Júpiter da Turquia antes do ataque a Cuba e avisar aos soviéticos. Desse modo, não acho que eles atacariam a Turquia. Que ironia, pensou George: para proteger a Turquia, era preciso retirar suas armas
nucleares. O secretário de Estado Dean Rusk, que ele considerava um dos homens mais inteligentes naquela sala, alertou: – Eles podem tentar alguma outra ação... em Berlim. George ficou impressionado ao ver que o presidente americano não podia atacar uma ilha do Caribe sem calcular as repercussões na Europa Oriental, a 8 mil quilômetros de distância. O mundo era mesmo um tabuleiro de xadrez para as duas superpotências. – Não estou preparado, neste momento, para recomendar ataques aéreos a Cuba – afirmou McNamara. – Só estou dizendo que agora precisamos começar a considerar a situação de modo mais realista. O general Maxwell Taylor, que havia conversado com o Estado-Maior Conjunto, tomou a palavra: – A recomendação deles é que o grande ataque, o Plano de Operação 312, ocorra o mais tardar na segunda-feira de manhã, a menos que até lá haja indícios irrefutáveis de que as armas ofensivas estão sendo desmanteladas... Sentados atrás de Taylor, Mawhinney e seus amigos exibiam um ar satisfeito. Igualzinho aos militares, pensou George: eles mal podiam esperar para começar o combate, ainda que este talvez significasse o fim do mundo. Rezou para que os políticos ali presentes não se deixassem guiar pelos soldados. – ... e que a execução desse plano de ataque seja seguida sete dias depois pela execução do 316, o plano de invasão – continuou Taylor. – Ora, que surpresa! – comentou Bobby Kennedy, sarcástico. Sonoras risadas soaram em volta da mesa. Todo mundo parecia achar as recomendações dos militares absurdamente previsíveis. George ficou aliviado. Mas a atmosfera tornou a ficar séria quando McNamara, após ler um bilhete entregue por um assessor, falou de repente: – O U-2 foi abatido. George arquejou. Sabia que um avião espião da CIA tinha interrompido o contato durante uma missão em Cuba, mas todos esperavam que fosse apenas uma pane de rádio e ele estivesse a caminho de casa. O presidente obviamente não fora informado sobre o avião desaparecido. – Um U-2 foi abatido? – indagou, com um traço de medo na voz. George sabia por que Kennedy estava tão consternado. Até então, as superpotências vinham se enfrentando de perto, mas haviam se atido a ameaças. Agora o primeiro tiro tinha sido disparado. Dali em diante, seria bem mais difícil evitar uma guerra. – Wright acabou de me dizer que o avião foi encontrado abatido – disse McNamara. O coronel John Wright trabalhava na Agência de Inteligência da Defesa. – O piloto morreu? – perguntou Bobby. Como muitas vezes acontecia, ele havia feito a pergunta mais importante.
– O corpo do piloto está dentro do avião – respondeu o general Taylor. – Alguém viu o piloto? – quis saber Kennedy. – Sim, presidente – retrucou Taylor. – Os destroços do avião estão no chão e o piloto morreu. Fez-se silêncio na sala. Aquilo mudava tudo. Um americano tinha morrido, abatido em Cuba por armas soviéticas. – Isso levanta a questão da retaliação – disse Taylor. Sem dúvida. O povo americano pediria vingança. George sentia a mesma coisa. De repente, desejou que o presidente lançasse o ataque aéreo maciço solicitado pelo Pentágono. Imaginou centenas de bombardeiros em formação cerrada, sobrevoando o Estreito da Flórida e lançando suas cargas mortíferas sobre Cuba qual uma chuva de granizo. Quis ver todos os lança-mísseis explodidos, todos os soldados soviéticos massacrados, Fidel Castro morto. Se Cuba inteira precisasse sofrer, que assim fosse: isso lhes ensinaria a não matar americanos. A reunião já durava duas horas e a sala estava enevoada de tanta fumaça de cigarro. O presidente anunciou um intervalo. Boa ideia, pensou George. Ele próprio com certeza precisava acalmar os nervos. Se os outros estivessem tão sedentos de sangue quanto ele, não estavam em condições de tomar nenhuma decisão racional. O motivo mais importante para o intervalo era que o presidente precisava tomar seu remédio. A maioria das pessoas sabia que Kennedy tinha problemas nas costas, mas poucos entendiam que ele travava uma batalha constante contra toda uma gama de doenças, entre as quais o mal de Addison e uma colite. Duas vezes por dia, os médicos lhe injetavam um coquetel de anabolizantes e antibióticos que lhe permitia continuar cumprindo suas funções. Com a ajuda do jovem e bem-disposto redator de discursos do presidente, Ted Sorensen, Bobby começou a refazer o rascunho da carta para Kruschev. Acompanhados por seus assessores, os dois foram para o escritório do presidente, uma sala abarrotada contígua ao Salão Oval. De caneta e bloco amarelo em punho, George ia anotando tudo o que Bobby lhe pedia. Com apenas duas pessoas debatendo o texto, o rascunho ficou pronto depressa. Os parágrafos mais importantes eram: 1. O senhor concorda em retirar esses sistemas de armamentos de Cuba sob a devida observação e supervisão da ONU e proceder, com as garantias apropriadas, à cessação de novos transportes de tais sistemas de armamentos para Cuba. 2. Nós, de nossa parte, concordamos – mediante a tomada de providências adequadas pela ONU para garantir a execução e a continuidade desses compromissos – (a) em cessar de imediato todas as operações de quarentena atualmente em curso e (b) em garantir que não haverá invasão a Cuba, e temos plena confiança de que outras nações do hemisfério ocidental estariam dispostas a fazer o mesmo. Os Estados Unidos estavam aceitando a primeira proposta de Kruschev. Mas e a segunda? Bobby e Sorensen decidiram dizer o seguinte: O efeito de tal acordo para apaziguar a tensão mundial nos permitiria trabalhar no
sentido de chegar a um arranjo mais geral relativo a “outros armamentos”, conforme proposto em sua segunda carta. Não era grande coisa, só uma sugestão de promessa de um debate futuro, mas decerto era o máximo que o ComEx iria permitir. Em seu íntimo, George se perguntou como aquilo poderia bastar. Entregou o rascunho manuscrito a uma das secretárias do presidente e lhe pediu que datilografasse o texto. Alguns minutos depois, Bobby foi convocado ao Salão Oval, onde um grupo menor estava se reunindo: o presidente, Dean Rusk, Mac Bundy e dois ou três outros, com seus assessores mais próximos. O vice-presidente Lyndon Johnson foi deixado de fora. Apesar de ser um político hábil, na opinião de George, seus modos grosseiros de texano incomodavam os refinados bostonianos que eram os irmãos Kennedy. O presidente queria que Bobby entregasse a carta pessoalmente ao embaixador soviético em Washington, Anatoly Dobrynin. Bobby e Dobrynin haviam tido várias reuniões informais nos últimos dias. Apesar de não irem com a cara um do outro, conseguiam conversar com franqueza, e tinham criado um canal bem útil, que evitava a burocracia de Washington. Em uma reunião cara a cara, talvez Bobby conseguisse elaborar melhor a sugestão de promessa para conversar sobre os mísseis da Turquia sem aprovação prévia do ComEx. Dean Rusk sugeriu que Bobby fosse um pouco mais longe com Dobrynin. Nas reuniões daquele dia, tinha ficado claro que na realidade ninguém fazia questão de que os mísseis Júpiter continuassem na Turquia. De um ponto de vista estritamente militar, eles eram inúteis. O problema era só de aparência: o governo turco e os outros aliados da OTAN ficariam bravos se os Estados Unidos trocassem aqueles mísseis em um acordo relacionado a Cuba. Rusk sugeriu uma solução que George julgou muito inteligente: – Proponha retirar os Júpiter depois... daqui a uns cinco ou seis meses, digamos. Assim poderemos fazer tudo com discrição, sem precisar da anuência dos nossos aliados, e intensificar a atividade de nossos submarinos nucleares no Mediterrâneo para compensar. Mas os soviéticos precisam prometer manter estrito segredo em relação a esse acordo. Apesar de surpreendente, era uma sugestão brilhante, pensou George. Todos concordaram com uma velocidade espantosa. Durante a maior parte do dia, as conversas do ComEx tinham se dispersado pelo mundo inteiro, mas aquele grupo menor ali no Salão Oval de repente estava demonstrando grande decisão. – Ligue para Dobrynin – pediu Bobby a George. Ele olhou para o relógio, e George fez o mesmo: eram 19h15. – Peça a ele para me encontrar no Departamento de Justiça daqui a meia hora. – E soltem a carta para a imprensa quinze minutos depois – completou o presidente. George entrou na sala das secretárias junto ao Salão Oval e tirou um fone do gancho. – Embaixada soviética, por favor – pediu à telefonista. O embaixador aceitou o encontro na mesma hora. George levou a carta datilografada para Maria e lhe disse que o presidente a queria
liberada para a imprensa às oito. Ela conferiu o relógio, ansiosa, e disse: – Certo, meninas, é melhor começarmos a trabalhar. Bobby e George saíram da Casa Branca e foram levados de carro até o Departamento de Justiça, a poucos quarteirões de distância. Com a soturna iluminação de fim de semana, as estátuas do Grande Hall pareciam espiá-los, desconfiadas. George explicou aos seguranças que uma visita importante chegaria dali a pouco para falar com Bobby. Subiram de elevador. George observou o chefe e pensou que ele estava com uma cara abatida; devia estar exausto, mesmo. Os ecos se propagavam pelos corredores vazios do imenso prédio. A cavernosa sala de Bobby estava mal iluminada, mas ele não se deu ao trabalho de acender outras luzes. Deixou-se afundar atrás da grande escrivaninha e esfregou os olhos. George olhou pela janela para os postes da rua. O centro de Washington era um belo parque cheio de monumentos e palácios, mas o resto da cidade era uma metrópole densamente povoada de cinco milhões de habitantes, a maioria negra. Será que ainda estaria de pé àquela mesma hora no dia seguinte? Já tinha visto fotos de Hiroshima: quilômetros de construções transformadas em entulho e os arredores cheios de sobreviventes queimados e mutilados, encarando sem entender o mundo irreconhecível à sua volta. Será que a capital americana estaria assim pela manhã? Dobrynin foi levado à sala de Bobby pontualmente às quinze para as oito. Aquele homem calvo de 40 e poucos anos obviamente adorava os encontros informais com o irmão do presidente. – Quero apresentar a alarmante situação atual do modo como o presidente a vê – disse Bobby. – Um de nossos aviões foi abatido sobre Cuba, e o piloto morreu. – Os seus aviões não têm o direito de sobrevoar Cuba – rebateu Dobrynin depressa. As conversas entre os dois podiam ser combativas, mas nesse dia a disposição do secretário de Justiça era outra. – Quero que o senhor entenda as realidades políticas da situação – disse ele. – O presidente está sofrendo agora uma forte pressão para reagir com um ataque. Não podemos pôr fim a esses sobrevoos; eles são nossa única maneira de acompanhar o estado de construção das suas bases de mísseis. Mas, se os cubanos abaterem nossos aviões, iremos revidar. Bobby revelou ao embaixador o conteúdo da carta de Kennedy ao premiê Kruschev. – E a Turquia? – indagou o embaixador, incisivo. Bobby respondeu com cautela: – Se esse for o único obstáculo para chegarmos ao acordo que acabo de mencionar, o presidente não vê nenhuma dificuldade intransponível. A maior dificuldade para o presidente é o debate público relativo a essa questão. Se essa decisão fosse anunciada, a OTAN viria abaixo. Precisamos de quatro a cinco meses para retirar os mísseis da Turquia. Mas é tudo
estritamente confidencial: pouquíssimas pessoas sabem que estou lhe dizendo isso. George observou com atenção a expressão de Dobrynin. Seria imaginação sua ou o diplomata estava disfarçando uma onda de animação? – George, dê ao embaixador os números de telefone que usamos para falar diretamente com o presidente. George pegou um bloquinho, anotou três números, rasgou a folha e a entregou a Dobrynin. Bobby se levantou, e o russo fez o mesmo. – Preciso de uma resposta amanhã – disse o secretário. – Não se trata de um ultimato; trata-se da realidade. Nossos generais estão loucos por uma briga. E não nos mandem uma daquelas cartas compridas do premiê que levam o dia inteiro para serem traduzidas. Precisamos de uma resposta clara e concisa de vocês, embaixador. E logo. – Muito bem – disse Dobrynin, e se retirou.
No domingo de manhã, o chefe da estação da KGB em Havana informou ao Kremlin que os cubanos agora consideravam um ataque americano inevitável. Dimka estava em uma dacha do governo em Novo-Ogaryevo, pitoresco vilarejo nos arredores de Moscou. Era uma construção pequena, cujas colunas brancas lhe conferiam certa semelhança com a Casa Branca de Washington. Estava se preparando para a reunião do Presidium que ocorreria dali a poucos minutos, ao meio-dia. Deu a volta na comprida mesa de carvalho com oito pastas informativas que deixara em frente a cada lugar. As pastas continham a tradução para o russo da última mensagem de Kennedy a Kruschev. Estava esperançoso. O presidente americano havia concordado com todas as demandas iniciais do premiê. Se a carta tivesse milagrosamente chegado minutos depois de enviada a primeira mensagem de Kruschev, a crise teria terminado em segundos. O atraso, porém, permitira ao líder fazer novas exigências. Além disso, infelizmente a carta de Kennedy não mencionava a Turquia de forma direta. Dimka não sabia se aquilo seria um empecilho para seu chefe. Os integrantes do Presidium já estavam se reunindo quando Natalya entrou. A primeira coisa em que Dimka reparou foi que seus cabelos encaracolados e compridos a deixavam mais sensual, e a segunda foi que ela parecia assustada. Vinha tentando conseguir alguns minutos a sós com ela para lhe contar sobre o noivado; sentia que não podia dar a notícia a ninguém no Kremlin antes que ela soubesse. Mais uma vez, no entanto, aquele não era um bom momento. Eles precisavam estar a sós. Natalya veio na direção dele e disse: – Aqueles imbecis abateram um avião americano. – Ah, não! Ela assentiu.
– Um U-2 espião. O piloto morreu. – Puta merda! Quem foi? Nós ou os cubanos? – Ninguém quer dizer, ou seja, provavelmente fomos nós. – Mas não houve ordem nenhuma! – Justamente. Era o que ambos temiam: que alguém começasse a atirar sem autorização. Os participantes estavam se acomodando com seus assessores logo atrás, como de hábito. – Vou avisá-lo – falou Dimka, mas, bem na hora em que disse isso, Kruschev entrou. Correu até o premiê e sussurrou a notícia em seu ouvido enquanto ele sentava. Kruschev não respondeu, mas não pareceu nada contente. Começou a reunião com o que obviamente era um discurso ensaiado: – Houve um tempo em que nós avançamos, como em outubro de 1917; mas em março de 1918, depois de assinar o tratado de Brest-Litovsk com os alemães, tivemos de recuar. Agora estamos diante do perigo de uma guerra e de uma catástrofe nuclear cujo possível desfecho é a destruição da raça humana. Para salvar o mundo, precisamos recuar. Aquilo estava parecendo o início de um discurso em prol de um acordo, pensou Dimka. Mas Kruschev logo começou a tecer considerações militares. O que a URSS deveria fazer se os americanos atacassem Cuba naquele mesmo dia, como os cubanos tinham certeza de que iria acontecer? O general Pliyev precisava ser instruído a defender as forças soviéticas em Cuba, mas deveria pedir permissão antes de usar armas nucleares. Enquanto o Presidium debatia essa possibilidade, Dimka foi chamado para fora da sala por sua secretária, Vera Pletner. Queriam falar com ele ao telefone. Natalya saiu também. O Ministério das Relações Exteriores tinha notícias que precisavam ser transmitidas a Kruschev imediatamente; sim, no meio da reunião. O embaixador soviético em Washington acabara de mandar uma mensagem por cabo. Bobby Kennedy lhe dissera que os mísseis da Turquia seriam retirados em quatro ou cinco meses, mas isso precisava ser mantido no mais estrito sigilo. – Que notícia boa! – exclamou Dimka, contente. – Vou avisá-lo agora mesmo. – Mais uma coisa – disse o funcionário do ministério. – Bobby enfatizou muito a necessidade de agir rápido. Parece que Kennedy está sofrendo forte pressão do Pentágono para atacar Cuba. – Foi o que pensamos. – Ele disse várias vezes que resta pouco tempo. Eles precisam da resposta hoje. – Vou dizer a ele. Dimka desligou. A seu lado, Natalya parecia curiosa; tinha faro para notícias. – Bobby Kennedy propôs retirar os mísseis da Turquia. Ela abriu um largo sorriso. – Acabou! Nós vencemos!
Então lhe deu um beijo na boca. Dimka voltou à sala de reuniões animadíssimo. Quem estava falando agora era Malinovski, ministro da Defesa. Dimka chegou perto do premiê e disse, em voz baixa: – Um cabo de Dobrynin. Ele recebeu uma proposta de Bobby Kennedy. – Pode dizer a todo mundo – ordenou o premiê, interrompendo Malinovski. Dimka repetiu o que havia escutado. Os integrantes do Presidium raramente sorriam, mas ele viu vários sorrisos largos se abrirem ao redor da mesa. Kennedy lhes dera tudo o que estavam pedindo! Aquilo era um triunfo para a União Soviética e uma vitória pessoal para Kruschev. – Precisamos aceitar quanto antes – disse o premiê. – Mandem chamar um estenógrafo. Vou ditar nossa carta de aceitação agora mesmo e ela deve ser lida na Rádio Moscou. – Quando devo ordenar a Pliyev para começar a desmontar os lança-mísseis? – perguntou Malinovski. Kruschev o encarou como se ele fosse estúpido. – Agora mesmo – respondeu.
Depois do Presidium, Dimka finalmente conseguiu ficar a sós com Natalya. Sentada em uma antessala, ela relia as anotações feitas durante a reunião. – Preciso lhe falar uma coisa – começou ele. Por algum motivo, embora não tivesse razão nenhuma para estar nervoso, sentiu um desconforto na barriga. – Pode falar. – Ela virou uma página do bloco. Sentindo que não tinha sua atenção, ele hesitou. Natalya pousou o bloco e sorriu. Era agora ou nunca. – Nina e eu ficamos noivos e vamos nos casar. Ela empalideceu e seu queixo caiu, de tão chocada que ficou. Dimka sentiu necessidade de dizer mais alguma coisa: – Contamos para minha família ontem. Na festa de aniversário do meu avô. – Pare de tagarelar, pensou, cale essa boca. – Ele fez 74 anos. Quando Natalya falou, as palavras dela o deixaram estarrecido: – E eu? Ele mal entendeu o que ela estava querendo dizer. – Você? A voz dela se transformou em um sussurro. – Nós passamos uma noite juntos. – E eu nunca vou me esquecer. – Dimka não estava entendendo nada. – Mas depois você
me disse que era casada. – Eu estava com medo. – De quê? Natalya parecia realmente abalada. Sua boca larga se contorceu em um esgar, quase como se ela estivesse sentindo alguma dor. – Por favor, não se case! – Por quê? – Porque eu não quero. Dimka estava atônito. – Por que você não me disse nada? – Eu não sabia o que fazer. – Mas agora é tarde. – Será? – Ela o encarou com um olhar de súplica. – Você pode romper o noivado... se quiser. – Nina está grávida. Natalya soltou um arquejo. – Você deveria ter dito alguma coisa... antes – falou Dimka. – E se eu tivesse dito? Ele balançou a cabeça. – Esta conversa não adianta nada. – É – disse ela. – Estou vendo que não. – Bom, pelo menos nós impedimos uma guerra nuclear. – É. Estamos vivos. Já é alguma coisa.
CAPÍTULO VINTE
O cheiro de café acordou Maria. Ela abriu os olhos. Sentado ao seu lado na cama, com vários travesseiros para apoiar as costas, o presidente tomava o desjejum enquanto lia a edição dominical do The New York Times. Estava usando um camisolão azul-claro igual ao seu. – Ué! – exclamou ela. Kennedy sorriu. – Você parece espantada. – Estou mesmo – respondeu ela. – Por continuar viva. Pensei que fôssemos morrer durante a noite. – Não foi desta vez. Maria fora dormir meio torcendo para que isso acontecesse. Estava apavorada com o fim daquele caso de amor. Sabia que os dois não tinham futuro. Se ele largasse a mulher, seria destruído politicamente; era impensável que fizesse isso por causa de uma negra. De toda forma, Kennedy não queria largar Jackie: amava-a, assim como os filhos. Era feliz no casamento. Maria era sua amante e, quando ele se cansasse dela, iria abandoná-la. Às vezes ela sentia que preferiria morrer antes disso, sobretudo se a morte pudesse acontecer enquanto estivesse ao lado dele, na cama, em um clarão de destruição nuclear que terminaria antes de qualquer um dos dois entender o que estava ocorrendo. Só que não falou nada disso: seu papel era deixá-lo feliz, não triste. Sentou-se na cama, beijou sua orelha, espiou o jornal por cima do seu ombro, pegou a xícara de café da mão dele e tomou um gole. Apesar de tudo, estava feliz por continuar viva. Ele não fizera nenhum comentário sobre o aborto. Era quase como se tivesse esquecido. Maria nunca tocara no assunto com ele. Ligara para Dave Powers para avisar que estava grávida e Dave lhe dera um telefone dizendo que pagaria o médico. A única vez que o presidente havia falado com ela sobre isso fora ao telefone depois da intervenção. Ele tinha coisas mais graves com que se preocupar. Pensou em puxar o assunto ela mesma, mas logo decidiu que era melhor não. Assim como Dave, queria proteger o presidente de qualquer aborrecimento, e não lhe dar novos fardos para suportar. Tinha certeza de que essa era a decisão correta, mas não podia evitar certa tristeza e até mesmo um pouco de mágoa pelo fato de não poder conversar com ele sobre algo tão importante. Tivera medo de o sexo doer depois da intervenção. Na noite anterior, contudo, quando Dave lhe pedira para ir à residência presidencial, ficara tão relutante em recusar o convite que acabara decidindo se arriscar; e tudo havia corrido bem – maravilhosamente bem, para dizer a verdade.
– É melhor eu me apressar – falou Kennedy. – Vou à missa hoje. Ele estava prestes a se levantar quando o telefone da cabeceira tocou. Ele atendeu. – Bom dia, Mac. Maria concluiu que ele estava falando com Mac Bundy, o conselheiro de segurança nacional. Pulou da cama e foi até o banheiro. O presidente com frequência atendia ao telefone na cama de manhã. Maria imaginou que as pessoas que lhe telefonavam não sabiam ou não ligavam se ele estivesse acompanhado. Sempre lhe poupava constrangimento retirando-se durante essas conversas, só para o caso de serem assuntos ultrassecretos. Espiou pela porta bem a tempo de vê-lo pôr o fone no gancho. – Ótimas notícias! – disse ele. – A Rádio Moscou anunciou que Kruschev vai desmontar os mísseis de Cuba e mandá-los de volta para a URSS. Maria teve de se controlar para não gritar de alegria. A crise tinha acabado! – Sinto-me um novo homem – falou Kennedy. Ela o abraçou e lhe deu um beijo. – Johnny, você salvou o mundo! Ele fez uma cara pensativa, e um minuto depois disse: – É, acho que salvei mesmo.
Em pé na sacada de sua casa, apoiada no parapeito de ferro forjado, Tanya respirava profundamente o úmido ar matinal de Havana quando o Buick de Paz apareceu e bloqueou completamente a rua estreita. Ele pulou do carro, olhou para cima, viu-a e gritou: – Você me traiu! – Como assim? – estranhou ela. – Traí como? – Você sabe. Paz era um homem arrebatado, passional, mas ela nunca o vira tão enfurecido e ficou feliz por ele não ter subido a escada até seu apartamento. Só que desconhecia o motivo de tanta raiva. – Não contei nenhum segredo nem fui para a cama com outro homem – falou. – Então tenho certeza de que não o traí! – Nesse caso, por que estão desmontando os lança-mísseis? – Estão mesmo? – Se fosse verdade, era o fim da crise. – Tem certeza? – Não finja que não sabe. – Não estou fingindo. Mas, se for verdade, estamos salvos. Com o rabo do olho, ela reparou que vizinhos abriam as janelas e portas para assistir ao bate-boca com descarada curiosidade. Ignorou-os. – Por que tanta raiva?
– Porque Kruschev fez um acordo com os ianques sem nem ao menos conversar com Fidel! Os vizinhos emitiram ruídos de reprovação. – É claro que eu não sabia – disse Tanya, irritada. – Você acha que Kruschev conversa comigo sobre essas coisas? – Ele mandou você para cá. – Não pessoalmente. – Ele conversa com o seu irmão. – Você acha mesmo que eu sou alguma espécie de emissária especial de Kruschev? – Por que acha que tenho seguido você por toda parte há meses? – Imaginei que fosse porque gostava de mim – disse ela, em tom mais baixo. As mulheres que escutavam emitiram ruídos afetuosos de empatia. – Você não é mais bem-vinda aqui – berrou ele. – Pode arrumar suas malas. Vai sair de Cuba agora mesmo. Hoje ainda! Com isso, ele pulou de volta no carro e foi embora a toda a velocidade. – Prazer em conhecê-lo – disse Tanya.
Dimka e Nina comemoraram naquela noite indo a um bar perto do apartamento dela. Ele estava decidido a esquecer a perturbadora conversa com Natalya. O que fora dito não mudava nada. Afastou aquilo para o fundo da mente. Eles tiveram uma rápida aventura que estava terminada. Ele amava Nina, e ela seria sua esposa. Comprou duas garrafas de cerveja russa fraca e sentou-se ao lado dela em um banco. – Nós vamos nos casar – falou, com afeto. – Quero que você use um lindo vestido. – Não quero muita mobilização – disse Nina. – Eu também não, mas isso talvez seja um problema – retrucou Dimka com a testa franzida. – Sou o primeiro da minha geração a se casar. Minha mãe e meus avós vão querer dar um festão. E a sua família? Sabia que o pai de Nina tinha morrido na guerra, mas sua mãe ainda era viva e havia um irmão uns dois anos mais novo. – Espero que minha mãe esteja bem o bastante para vir. A mãe dela morava em Perm, quase 1.500 quilômetros a leste de Moscou, mas algo dizia a Dimka que ela na verdade não desejava a sua presença. – E seu irmão? – Ele vai pedir uma licença, mas não sei se vai conseguir. – O rapaz estava no Exército Vermelho. – Não faço ideia de onde está alocado. Até onde sei, ele poderia estar em Cuba. – Vou descobrir – falou Dimka. – Tio Volodya pode mexer uns pauzinhos. – Não precisa ter trabalho. – Faço questão. Esse provavelmente vai ser meu único casamento!
– O que quer dizer com isso? – disparou ela. – Nada. – Ele tinha falado de brincadeira e ficou chateado por ter irritado a noiva. – Esqueça o que falei. – Acha que eu vou me divorciar de você como fiz com meu primeiro marido? – Eu disse justamente o contrário, não foi? O que deu em você? – Ele forçou um sorriso. – Nós deveríamos estar felizes hoje. Vamos nos casar, vamos ter um filho, e Kruschev salvou o mundo. – Você não entende. Eu não sou virgem. – Eu reparei. – Quer falar sério? – Está bem. – Um casamento, em geral, é quando dois jovens prometem se amar para sempre. Não se pode dizer isso duas vezes. Será que você não entende que tenho vergonha de estar fazendo isso de novo porque já fracassei uma vez? – Ah, sim. Agora que você explicou, eu entendi. – O comportamento de Nina era meio antiquado; afinal, várias pessoas se divorciavam nesses dias. Mas talvez fosse pelo fato de ela vir de uma cidade pequena. – Quer dizer que você quer uma comemoração adequada a um segundo casamento: sem promessas extravagantes, sem piadas de recém-casados, com uma compreensão adulta de que a vida nem sempre corre conforme o planejado. – Exatamente. – Bem, amada minha, se é isso que você quer, vou garantir que seja assim. – Vai mesmo? – O que faz você pensar que eu não iria? – Não sei – respondeu ela. – Eu às vezes esqueço como você é um homem bom.
Naquela manhã, no último ComEx da crise, George ouviu Mac Bundy inventar uma nova forma de descrever a divisão entre os conselheiros do presidente: – Todo mundo sabe quem foram os falcões e quem foram as pombas. – Pessoalmente, Bundy era um falcão. – Hoje foi o dia das pombas. Mas havia poucos falcões presentes naquela manhã: todos eram só elogios para a forma como Kennedy soubera lidar com a crise, mesmo alguns que pouco antes o haviam acusado de estar sendo perigosamente fraco, e que o haviam pressionado para envolver os Estados Unidos numa guerra. George reuniu coragem para brincar com o presidente: – Talvez o senhor agora deva solucionar o conflito de fronteira entre a Índia e a China, presidente. – Não acho que nenhum dos dois queira que eu faça isso, nem mais ninguém, aliás.
– Mas o senhor hoje pode tudo. Kennedy riu. – Vai durar uma semana, mais ou menos. Bobby Kennedy estava feliz com a perspectiva de passar mais tempo com a família. – Acho que até esqueci o caminho de casa – falou. Os únicos infelizes eram os generais. O Estado-Maior Conjunto, reunido no Pentágono para finalizar os planos do ataque a Cuba, estava uma fera e mandou um recado urgente para o presidente dizendo que a aceitação de Kruschev era um truque para ganhar tempo. Curtis LeMay afirmou que aquela era a maior derrota da história do país. Ninguém deu bola. George havia aprendido uma lição e sentia que levaria um tempo para digeri-la: as questões políticas estavam mais intimamente interligadas do que ele imaginara. Sempre pensara que problemas como Berlim e Cuba fossem distintos uns dos outros e tivessem pouco vínculo com questões como direitos civis ou o sistema público de saúde. Mas Kennedy não pudera lidar com a crise de Cuba sem pensar nas repercussões na Alemanha e, caso não tivesse conseguido contornar esse problema, as eleições legislativas iminentes teriam prejudicado seu programa doméstico e tornado impossível a aprovação de uma Lei de Direitos Civis. Tudo era conectado. Essa consciência tinha consequências para a carreira de George sobre as quais ele precisava refletir bastante. Terminado o ComEx, continuou de paletó e foi à casa da mãe. Era um dia ensolarado de outono, e as folhas já estavam vermelhas e douradas. Como adorava fazer, Jacky lhe preparou o jantar: bife com purê de batatas. O bife passou do ponto; ele não conseguia convencer a mãe a servir a carne malpassada, à francesa. Mesmo assim, saboreou a comida por causa do amor com que tinha sido preparada. Depois do jantar, ela lavou a louça, ele secou e os dois se aprontaram para ir ao culto noturno na Igreja Evangélica Betel. – Precisamos agradecer ao Senhor por ter nos salvado – disse ela, enquanto punha o chapéu em pé diante do espelho junto à porta. – Pode agradecer ao Senhor, mãe – retrucou George, bem-humorado. – Eu vou agradecer ao presidente Kennedy. – Por que não combinamos agradecer aos dois? – Aí tudo bem – disse ele, e os dois saíram.
Dimka e Valentin levaram Nina e Anna à roda-gigante do Parque Gorki. Depois de Dimka ser convocado no meio da colônia de férias, Nina havia conhecido um engenheiro com quem saíra por vários meses, mas os dois tinham rompido e agora ela estava livre outra vez. Enquanto isso, Valentin e Anna tinham virado um casal; ele dormia no apartamento das moças quase todos os fins de semana. Além disso, Valentin tinha dito ao amigo algumas vezes que ir para a cama com uma mulher depois da outra era apenas uma fase pela qual os homens passavam quando jovens. Quem me dera, pensou Dimka. No primeiro fim de semana de tempo ameno do curto verão moscovita, Valentin sugeriu uma saída a quatro. Dimka concordou, animado. Nina era inteligente e tinha opiniões fortes; sabia desafiá-lo, e ele gostava disso. Mas, acima de tudo, ela era sexy. Com frequência ele recordava o entusiasmo com que ela o beijara. Queria muito repetir a dose. Lembrava-se de como seus mamilos tinham ficado durinhos por causa da água fria. Ficava se perguntando se ela também pensava naquele dia no lago. Seu problema era que ele não conseguia ter o mesmo comportamento alegremente predatório de Valentin em relação às mulheres. Seu amigo era capaz de dizer qualquer coisa para levar uma mulher para a cama. Dimka achava errado manipular ou intimidar os outros. Também acreditava que, quando alguém dizia “não”, era preciso aceitar, enquanto Valentin sempre partia do princípio de que “não” queria dizer “talvez não ainda”. O Parque Gorki era um oásis no deserto do sisudo comunismo, um lugar que os habitantes de Moscou podiam frequentar apenas para se divertir. Todos vestiam suas melhores roupas, compravam sorvetes e balas, paqueravam desconhecidos e se beijavam no meio dos arbustos. Anna fingiu ter medo da roda-gigante e Valentin entrou na brincadeira, passou o braço em volta dela e lhe disse que o brinquedo era totalmente seguro. Nina parecia à vontade e despreocupada, e, embora Dimka preferisse essa atitude ao medo fingido, ela não lhe dava qualquer chance de intimidade. Nina estava bonita, com um vestido de algodão abotoado na frente listrado de laranja e verde. A vista de trás era particularmente atraente, pensou ele quando desceram da rodagigante. Para aquele programa, ele conseguira um jeans americano e uma camisa azul quadriculada. Em troca, passara adiante dois ingressos para assistir ao balé Romeu e Julieta no Bolshoi que Kruschev não quis. – O que você tem feito desde que nos vimos pela última vez? – perguntou-lhe Nina enquanto os dois passeavam pelo parque, tomando um licor de laranja morno comprado em uma barraquinha. – Trabalhado.
– Só? – Em geral chego ao escritório uma hora antes de Kruschev, para ter certeza de que está tudo pronto: os documentos de que vai precisar, os jornais estrangeiros, quaisquer pastas que ele possa querer. Ele muitas vezes trabalha até tarde da noite e eu raramente vou para casa antes. – Dimka desejou poder fazer seu emprego soar tão empolgante quanto de fato era. – Não tenho muito tempo para outra coisa. – Ele era igualzinho na universidade – disse Valentin. – Só trabalho, trabalho, trabalho... Felizmente, Nina não parecia considerar a vida de Dimka maçante. – Você encontra mesmo o camarada Kruschev todos os dias? – Quase todos. – E onde você mora? – Na Casa do Governo. Era um prédio de apartamentos para a elite não muito longe do Kremlin. – Que ótimo. – Com minha mãe – acrescentou ele. – Se fosse para ter um apartamento naquele prédio, eu também moraria com a minha mãe. – Minha irmã gêmea também mora conosco, mas agora ela está em Cuba... é jornalista da TASS. – Eu bem que gostaria de ir a Cuba – falou Nina, sonhadora. – É um país pobre. – Isso não me incomodaria em um clima em que não existe inverno. Imagine, dançar na praia em pleno mês de janeiro! Dimka assentiu. Cuba o empolgava por outros motivos. A revolução de Fidel Castro mostrava que a rígida ortodoxia soviética não era a única forma possível de comunismo. Fidel tinha ideias novas, diferentes. – Tomara que Fidel sobreviva – comentou. – E por que não sobreviveria? – Os americanos já invadiram Cuba uma vez. A Baía dos Porcos foi um fiasco, mas eles vão tentar de novo, e com um exército maior... provavelmente em 1964, quando Kennedy for candidato à reeleição. – Que horror! Não há nada que se possa fazer? – Fidel está tentando fazer as pazes com Kennedy. – E vai conseguir? – O Pentágono é contra, e os membros conservadores do Congresso estão reclamando bastante, de modo que a coisa não está andando muito. – Nós precisamos apoiar a revolução cubana! – Concordo... mas os nossos conservadores também não gostam de Fidel. Eles não têm certeza de que ele seja um comunista de verdade. – O que vai acontecer, então?
– Depende dos americanos. Talvez eles deixem Cuba em paz. Mas não acho que sejam tão inteligentes assim. Meu palpite é que vão continuar importunando Fidel até ele achar que o único país ao qual pode pedir ajuda é a União Soviética. Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar nos pedindo proteção. – E o que vamos poder fazer? – Boa pergunta. Valentin os interrompeu: – Estou com fome. Vocês têm comida em casa, garotas? – Claro – respondeu Nina. – Comprei um joelho de porco para fazer um ensopado. – Então o que estamos esperando? Dimka e eu podemos comprar cerveja no caminho. Foram de metrô. As moças moravam em um apartamento de um prédio controlado pelo sindicato dos metalúrgicos, para o qual trabalhavam. Era pequeno: um quarto com duas camas de solteiro, uma sala de estar com sofá em frente a uma TV , uma cozinha com uma mesa de jantar pequena e um banheiro. Dimka imaginou que a responsável pelas almofadas de rendinha do sofá e pelas flores de plástico no vaso em cima da TV fosse Anna, e que Nina houvesse comprado as cortinas listradas e os cartazes na parede com paisagens montanhosas. Estava preocupado com o fato de só haver um quarto. Se Nina quisesse ir para a cama com ele, será que dois casais poderiam transar no mesmo cômodo? Coisas desse tipo aconteciam quando estava na universidade e morava em um alojamento abarrotado. Mesmo assim, não gostava da ideia. Tirando todo o resto, não queria que Valentin soubesse quanto ele era inexperiente. Perguntou-se onde Nina dormia quando Valentin passava a noite ali. Então reparou em uma pequena pilha de cobertores no chão da sala, e deduziu que ela devia dormir no sofá. Nina pôs a carne dentro de uma panela grande, Anna picou um rabanete, Valentin pegou talheres e pratos, e Dimka serviu a cerveja. Todos, exceto Dimka, pareciam saber o que iria acontecer em seguida. Apesar de um pouco nervoso, ele foi em frente. Nina preparou uma bandeja de canapés: cogumelos em conserva, blinis, salsichão e queijo. Enquanto o ensopado cozinhava, eles foram para a sala. Nina sentou-se no sofá e bateu de leve no lugar ao seu lado, chamando Dimka para junto dela. Valentin se acomodou na poltrona e Anna sentou-se no chão a seus pés. Ficaram ouvindo música no rádio e tomando cerveja. Nina tinha posto algumas ervas na panela, e o cheiro da cozinha deixou Dimka com fome. Falaram sobre seus pais. Os de Nina eram divorciados, os de Valentin separados, e os de Anna se odiavam. – Minha mãe não gostava do meu pai – falou Dimka. – Nem eu. Ninguém gosta de um agente da KGB. – Eu me casei uma vez... nunca mais – disse Nina. – Vocês conhecem alguém que tenha um casamento feliz? – Sim – respondeu Dimka. – Meu tio Volodya. É bem verdade que tia Zoya é deslumbrante. Ela é física, mas parece uma atriz de cinema. Quando eu era pequeno, a chamava de Tia da
Revista, porque ela era igualzinha àquelas mulheres de beleza impossível das fotografias das revistas. Valentin acariciou os cabelos de Anna, e ela recostou a cabeça em sua coxa de um jeito que Dimka achou sensual. Queria tocar em Nina, e ela certamente não acharia ruim; caso contrário, por que o teria chamado para ir ao seu apartamento? Entretanto, sentia-se constrangido e pouco à vontade. Desejou que a moça fizesse alguma coisa: afinal, ela é que era experiente. Mas Nina parecia satisfeita em ouvir música e bebericar sua cerveja, com um leve sorriso no rosto. O jantar enfim ficou pronto. O ensopado, que comeram acompanhado de pão preto, estava uma delícia. Nina cozinhava bem. Depois de terminarem e tirarem a mesa, Valentin e Anna foram para o quarto e fecharam a porta. Dimka foi ao banheiro. O rosto no espelho acima da pia não era bonito. Seu melhor traço eram os grandes olhos azuis. Os cabelos castanho-escuros estavam curtos, ao estilo militar aprovado para jovens apparatchiks. Ele parecia um rapaz sério cujas preocupações estavam muito acima do sexo. Verificou a camisinha no bolso. Essas coisas eram raras, e ele tivera muito trabalho para arrumar algumas. No entanto, não concordava com a opinião de Valentin de que a gravidez era problema da mulher. Tinha certeza de que não conseguiria sentir prazer no sexo caso tivesse a sensação de estar forçando a garota a passar por um parto ou por um aborto. Voltou para a sala. Para sua surpresa, Nina estava de casaco. – Pensei em acompanhar você até a estação de metrô – disse ela. Dimka ficou pasmo. – Por quê? – Acho que você não conhece o bairro... não quero que se perca. – Não, por que você quer que eu vá embora? – O que mais você iria fazer? – Queria ficar aqui e beijar você – respondeu ele. Ela riu. – O seu entusiasmo compensa a falta de sofisticação. Ela tirou o casaco e se sentou. Dimka sentou-se ao seu lado e a beijou com hesitação. Nina retribuiu seu beijo com um entusiasmo reconfortante. Cada vez mais excitado, ele percebeu que ela não se importava com a sua inexperiência. Em pouco tempo, já estava tentando abrir os botões de seu vestido. Seus seios eram maravilhosamente fartos. Estavam comprimidos dentro de um sutiã intimidador, mas ela o tirou e lhe ofereceu os seios para ele beijar. Depois disso, foi tudo bem rápido. Quando o grande momento chegou, ela se deitou no sofá com a cabeça sobre o braço e um
dos pés no chão, posição que adotou com tanta naturalidade que Dimka pensou: ela já deve ter feito isso antes. Apressado, ele pegou a camisinha e a abriu com gestos atabalhoados, mas ela disse: – Não precisa. Ele ficou espantado. – Como assim? – Eu não posso ter filhos. Os médicos disseram. Foi por isso que meu marido se divorciou de mim. Ele largou a camisinha no chão e se deitou por cima dela. – Devagar – disse ela, guiando-o para dentro de si. Pronto, pensou Dimka: finalmente não sou mais virgem.
A lancha era do tipo conhecido antigamente como rum-runner: comprida e estreita, extremamente veloz e muito desconfortável para os passageiros. Atravessou os Estreitos da Flórida a 80 nós, batendo em cada onda com o mesmo impacto de um carro que derruba uma cerca de madeira. Os seis homens a bordo estavam presos por cintos de segurança, única forma de garantir relativa segurança em uma embarcação aberta àquela velocidade. No pequeno compartimento de carga, levavam submetralhadoras M3, pistolas e bombas incendiárias. Estavam a caminho de Cuba. Na verdade, George Jakes não deveria estar com eles. Mareado, ele olhou para a água iluminada pelo luar. Quatro dos passageiros eram cubanos exilados em Miami, que George conhecia apenas pelo primeiro nome. Eles odiavam o comunismo, Fidel Castro e todo mundo que não concordasse com eles. O sexto homem era Tim Tedder. Tudo havia começado quando Tedder entrara em sua sala no Departamento de Justiça. Parecera-lhe vagamente conhecido, e George o identificara como agente da CIA, apesar de ele estar oficialmente “aposentado” e trabalhar como consultor de segurança independente. George estava sozinho na sala. – Posso ajudar? – perguntou, educado. – Vim para a reunião da Mangusto. George já tinha ouvido falar na Operação Mangusto, projeto no qual estava envolvido o pouco confiável Dennis Wilson, mas não conhecia todos os detalhes. – Pode entrar – falou, acenando para uma cadeira. Tedder então tinha entrado com uma pasta de papelão debaixo do braço. Era uns dez anos mais velho do que George, mas parecia ter se vestido na década de 1940: usava um terno jaquetão e os cabelos ondulados repartidos de lado e empapados de brilhantina. – Dennis vai voltar a qualquer momento – disse George.
– Obrigado. – Como estão indo as coisas? Na Mangusto? Tedder fez uma cara ressabiada e retrucou: – Na reunião eu digo. – Não vou participar. – George olhou para o relógio de pulso. Estava desonestamente dando a entender que fora convidado, o que não era verdade, mas sua curiosidade agora fora atiçada. – Tenho outra reunião na Casa Branca. – Que pena. George recordou um fragmento de informação. – Pelo plano original, vocês agora deveriam estar na fase dois, o desenvolvimento. O semblante de Tedder se desanuviou quando ele deduziu que George estava por dentro. – Aqui está o relatório – falou, abrindo a pasta de papelão. George fingia saber mais do que de fato sabia. Mangusto era um projeto destinado a ajudar cubanos anticomunistas a fazerem uma contrarrevolução. O plano tinha um cronograma cujo clímax seria a derrubada de Fidel Castro em outubro daquele ano, logo antes das eleições legislativas no meio do mandato de Kennedy. Equipes infiltradas da CIA estavam encarregadas da organização política e da propaganda anti-Fidel. Tedder entregou duas folhas de papel a George. Fingindo menos interesse do que de fato sentia, este falou: – Tudo dentro do cronograma? Tedder se esquivou da pergunta. – Está na hora de aumentar a pressão – disse ele. – Fazer circular discretamente panfletos que zombam de Fidel não está nos ajudando a alcançar nossos objetivos. – Como podemos aumentar a pressão? – Está tudo aí – respondeu Tedder, apontando para o papel. George olhou para baixo. O que leu foi pior do que esperava. A CIA propunha sabotar pontes, refinarias de petróleo, usinas de energia, usinas de açúcar e o transporte marítimo. Foi nessa hora que Dennis Wilson entrou. George reparou que estava com o colarinho da camisa aberto, a gravata frouxa e as mangas arregaçadas, igualzinho a Bobby, embora seus cabelos já ralos nunca fossem ser páreo para a basta cabeleira do secretário. Quando Wilson viu Tedder conversando com George, primeiro pareceu espantado, depois tenso. – Se vocês explodirem uma refinaria de petróleo e morrer gente, todo mundo aqui em Washington que tiver aprovado o projeto vai ser culpado de assassinato. Irado, Dennis Wilson perguntou a Tedder: – O que você contou a ele? – Pensei que ele tivesse autorização para saber! – E tenho – retrucou George. – Meu nível de autorização é o mesmo de Dennis. – Ele se virou para Wilson. – Então por que você tomou tanto cuidado para esconder isso de mim? – Porque eu sabia que você criaria problemas.
– E tinha razão. Nós não estamos em guerra contra Cuba. Matar cubanos é crime. – Estamos em guerra, sim – insistiu Tedder. – Ah, é? Então, se Fidel mandasse agentes aqui para Washington e eles bombardeassem uma fábrica e matassem a sua mulher, não seria crime? – Deixe de ser ridículo. – Tirando o fato de ser assassinato, será que você não consegue imaginar o escândalo se esse plano vazar? Seria um incidente internacional! Imagine Kruschev na ONU pedindo ao nosso presidente que pare de financiar o terrorismo internacional. Pense nas matérias do The New York Times. Bobby pode ter que se demitir. E a campanha de reeleição do presidente? Por acaso ninguém pensou no lado político disso tudo? – É claro que pensamos. Por isso é tudo ultrassecreto. – E está dando certo? – George virou uma página. – Estou mesmo lendo isto? Estamos tentando assassinar Fidel Castro com charutos envenenados? – Você não faz parte da equipe desse projeto – disse Wilson. – Então esqueça o que leu e pronto, certo? – Certo o caramba. Vou direto falar com Bobby sobre isso. Wilson riu. – Seu babaca. Será que você não entendeu? Bobby é o chefe dessa operação! George ficou perplexo. Mesmo assim, foi falar com Bobby, que lhe disse calmamente: – Vá até Miami e dê uma olhada na operação, George. Peça para Tedder lhe mostrar as coisas. Quando voltar, me diga o que acha. Assim, George foi visitar o grande e novo campo de treinamento da CIA na Flórida, onde exilados cubanos eram preparados para missões de infiltração. Tedder então falou: – Talvez você devesse participar de uma missão. Para ver com os próprios olhos. Era um desafio, e Tedder não imaginava que George fosse aceitar. Mas ele sentia que, se recusasse, estaria se colocando em posição de fraqueza. No momento, a vantagem era sua: ele era contra a Operação Mangusto por motivos morais e políticos. Caso se recusasse a participar de uma ação, seria considerado um medroso. E talvez parte dele não conseguisse resistir ao desafio de provar a própria coragem. Portanto, como um bobo, respondeu: – Tudo bem. Você vai também? A resposta surpreendeu Tedder, e ficou claro para George que ele desejou poder retirar o convite. Mas agora o agente também tinha sido desafiado. Era o que Greg Peshkov chamaria de concurso para ver quem mija mais longe. E Tedder também se sentira incapaz de recuar, embora tenha acabado por dizer: – É claro que não podemos contar a Bobby que você vai. Ali estavam eles, portanto. Era uma pena o presidente Kennedy gostar tanto dos romances de espionagem do autor britânico Ian Fleming, refletiu George. Kennedy parecia acreditar que, como nos livros, James Bond também podia salvar o mundo real. Bond tinha “autorização
para matar”. Que bobagem. Ninguém tinha autorização para matar. Seu alvo era uma cidadezinha chamada La Isabela, situada em uma estreita península que despontava feito um dedo da costa leste de Cuba. O lugar era um porto e não tinha qualquer outra atividade além do comércio. Seu objetivo era danificar a estrutura portuária. Eles haviam calculado o tempo para chegar quando o dia raiasse. O céu do leste já estava se acinzentando quando o capitão Sanchez diminuiu a potência do motor, transformando o ronco em um débil gargarejo. Sanchez conhecia bem aquele trecho de costa: antes da revolução, seu pai tinha sido dono de uma fazenda de cana ali perto. O contorno de uma cidade começou a surgir no horizonte ainda escuro, e ele desligou o motor e soltou um par de remos. A maré os levou naturalmente na direção da cidade; os remos eram mais para manter o curso. Sanchez tinha avaliado de modo perfeito sua aproximação. Uma fileira de píeres de concreto apareceu e, além deles, George pôde distinguir mal e mal grandes armazéns com telhados pontudos. Não havia nenhum navio grande no porto; mais adiante na costa, alguns pequenos barcos de pesca estavam ancorados. Tirando as ondas baixas que sussurravam na praia, tudo era silêncio. A lancha bateu em um dos píeres sem fazer barulho. O compartimento de carga foi aberto e os homens se armaram. Tedder estendeu uma pistola para George, mas este fez que não com a cabeça. – Pegue – disse Tedder. – Vai ser perigoso. George sabia o que o outro estava pretendendo: Tedder queria que ele tivesse sangue nas mãos para não poder mais criticar a Operação Mangusto. Mas não era tão fácil assim manipulá-lo. – Não, obrigado. Sou apenas um observador. – O chefe desta missão sou eu, e estou mandando. – E eu estou mandando você tomar no cu. Tedder desistiu. Sanchez amarrou a lancha e todos desembarcaram. Ninguém disse nada. Sanchez apontou para o armazém mais próximo, que também parecia ser o maior. Todos correram naquela direção. George foi por último, fechando o grupo. Não havia mais ninguém à vista. George pôde ver uma fileira de casas que não passavam de pouco mais de barracos de madeira. Um jumento preso pastava a grama esparsa no acostamento da estrada de terra. O único veículo por perto era uma picape enferrujada modelo década de 1940. Um lugar muito pobre, percebeu ele. Estava claro que ali antigamente funcionava um porto movimentado. Imaginou que este houvesse sido arruinado pelo presidente americano Eisenhower, que, em 1960, impusera um embargo ao comércio entre os Estados Unidos e Cuba. Em algum lugar, um cão começou a latir. O armazém tinha laterais de madeira e telhado de ferro corrugado, mas não havia janelas. Sanchez encontrou uma pequena porta e a derrubou com um chute. Eles entraram correndo. O
espaço vazio continha apenas restos de embalagens: caixotes quebrados, caixas de papelão, pedaços curtos de corda e barbante, sacos descartados e redes rasgadas. – Perfeito – falou Sanchez. Os quatro cubanos atiraram bombas incendiárias pelo chão. Segundos depois, os artefatos explodiram. Os restos descartados pegaram fogo na hora. As paredes de madeira se incendiariam em poucos instantes. Todos correram para fora. – Ei! O que está acontecendo? – perguntou uma voz em espanhol. George se virou e viu um cubano de cabelos brancos vestido com um tipo de uniforme. Era velho demais para ser policial ou soldado, então George concluiu que era o vigia. Estava calçando sandálias. No entanto, tinha uma arma no cinto e já tateava tentando soltá-la do coldre. Antes de ele conseguir sacar sua arma, Sanchez lhe deu um tiro. O sangue brotou no peito da camisa branca do uniforme e o homem caiu para trás. – Vamos embora! – falou Sanchez, e os cinco homens correram em direção à lancha. George se ajoelhou junto ao senhor cubano cujos olhos encaravam – embora não vissem nada – o céu cada vez mais claro. Atrás dele, Tedder gritou: – George! Vamos embora! Por alguns instantes, o sangue saiu aos borbotões do ferimento no peito do vigia, mas depois virou um filete. George tentou encontrar sua pulsação, mas não conseguiu. Pelo menos ele morreu rápido. O incêndio no armazém estava se espalhando depressa, e George já podia sentir o calor. – George! Vamos deixar você para trás! – insistiu Tedder. O motor da lancha foi ligado e rugiu. George fechou os olhos do morto e se levantou. Permaneceu alguns instantes em pé, com a cabeça baixa. Então saiu correndo em direção à lancha. Assim que ele embarcou, a lancha se afastou do cais e partiu baía afora. George prendeu o cinto de segurança. – Que porra você estava fazendo, afinal? – berrou Tedder em seu ouvido. – Nós matamos um inocente. Achei que ele merecesse um instante de respeito. – Ele trabalhava para os comunistas! – Ele era o vigia noturno. Provavelmente não sabia nem o que é comunismo. – Você é mesmo um banana. George olhou para trás. O armazém agora era uma gigantesca fogueira. Pessoas o rodeavam, decerto tentando apagar as chamas. Ele tornou a encarar o mar à sua frente e não se virou mais. Quando por fim chegaram a Miami e pisaram em terra firme outra vez, falou para Tedder: – Quando estávamos no mar, você me chamou de banana. – Sabia que aquilo era uma burrice quase tão grande quanto participar da missão, mas era orgulhoso demais para deixar
passar. – Agora estamos em terra firme, sem problemas de segurança. Por que não repete o que disse? Tedder o encarou. Era mais alto do que George, mas não tão corpulento. Devia ter algum tipo de treinamento em combate corpo a corpo, e George pôde ver que estava avaliando as próprias chances, enquanto os cubanos observavam com cara de pouco interesse. Os olhos de Tedder relancearam para as orelhas de George, deformadas pela luta livre, e então tornaram a encará-lo. – Acho melhor esquecermos isso – disse ele. – É, foi o que pensei. No avião de volta a Washington, ele redigiu um relatório curto para Bobby dizendo que, na sua opinião, a Operação Mangusto era ineficaz, uma vez que não havia indício algum de que o povo de Cuba (ao contrário dos exilados) quisesse derrubar Fidel. Ela era também uma ameaça ao prestígio global dos Estados Unidos, pois causaria hostilidade contra os americanos caso um dia viesse a público. Ao entregar o relatório a Bobby, falou, sucinto: – A Mangusto é inútil e perigosa. – Eu sei – disse Bobby. – Mas nós precisamos fazer alguma coisa.
Dimka agora via todas as mulheres sob um novo viés. Ele e Valentin passavam quase todos os fins de semana com Nina e Anna no apartamento das duas, e os casais se revezavam para dormir na cama ou no chão da sala. Em uma só noite, ele e Nina transavam duas ou até três vezes. Ele agora conhecia, com mais detalhes do que jamais sonhara, o aspecto, o cheiro e o gosto de um corpo de mulher. Consequentemente, olhava para todas as outras de um jeito novo e mais conhecedor. Podia imaginá-las nuas, desenhar a curva de seus seios, visualizar os pelos de seu corpo, imaginar a expressão em seus rostos durante o prazer. De certa forma, conhecendo uma mulher, conhecia todas. Sentiu-se um pouco desleal a Nina quando admirou Natalya Smotrov na praia, em Pitsunda, vestida com um maiô amarelo-canário, os cabelos molhados e os pés sujos de areia. Seu corpo esbelto não era tão curvilíneo quanto o de Nina, mas nem por isso era menos delicioso. Talvez aquele seu interesse fosse perdoável: já fazia duas semanas que ele estava ali com Kruschev no litoral do Mar Negro, levando uma vida de monge. De todo modo, não chegava a considerar seriamente a tentação, pois Natalya usava aliança de casada. Era meio-dia e, enquanto ele nadava, ela estava lendo um relatório datilografado. Em seguida pôs um vestido por cima do maiô ao mesmo tempo que ele vestia seu short feito em casa, e então subiram juntos caminhando da praia até o lugar que chamavam de Alojamento. O prédio era novo e feio, com quartos para visitantes de status relativamente baixo como eles próprios. Encontraram os outros assessores no refeitório vazio, que recendia a carne de
porco cozida e repolho. Era uma reunião de posicionamento em preparação para o Politburo da semana seguinte. O objetivo, como sempre, era identificar questões controversas e avaliar o apoio a um lado ou outro. Dessa forma, um assessor podia salvar o chefe do constrangimento de defender uma proposta que seria subsequentemente rejeitada. Dimka partiu logo para o ataque: – Por que o ministro da Defesa está demorando tanto a mandar armas para nossos camaradas em Cuba? – indagou. – A ilha é o único país revolucionário no continente americano. Ela é uma prova de que o marxismo pode ser aplicado no mundo inteiro, não só no Leste. O apreço de Dimka pela revolução cubana era mais do que ideológico. Ele ficava empolgado com os heróis barbados, seus uniformes de combate e seus charutos, tão diferentes dos sisudos líderes soviéticos e seus indefectíveis ternos cinza. O comunismo supostamente deveria ser uma feliz cruzada por um mundo melhor, mas às vezes a União Sovética mais parecia um mosteiro medieval no qual todos houvessem feito votos de pobreza e obediência. Yevgeny Filipov, assessor do ministro da Defesa, se ofendeu. – Fidel Castro não é um marxista de verdade – afirmou. – Ele ignora a linha correta ditada pelo Partido Socialista Popular de Cuba e adota um comportamento revisionista próprio. – O PSP era o partido pró-Moscou. Na opinião de Dimka, o comunismo andava fortemente precisado de uma revisão, mas ele não disse isso. – A revolução cubana é um imenso golpe para o imperialismo capitalista. Nós deveríamos apoiá-la nem que fosse pelo fato de os irmãos Kennedy odiarem tanto Fidel. – Será que odeiam mesmo? – falou Filipov. – Não tenho tanta certeza. A invasão da Baía dos Porcos foi há um ano. O que os americanos fizeram desde então? – Rejeitaram as tentativas de paz de Fidel. – É verdade: os conservadores do Congresso não deixariam Kennedy fazer um pacto com Fidel nem se ele quisesse. Mas isso não significa que ele vai entrar em guerra. Dimka correu os olhos pelos assessores reunidos no recinto, todos de camisas de manga curta e sandálias. Discretamente calados, observavam ele e Filipov até conseguirem saber quem iria vencer aquele combate de gladiadores. – Nós temos de garantir que a revolução cubana não seja derrubada – prosseguiu Dimka. – O camarada Kruschev acredita que vai haver outra invasão americana, dessa vez mais bem organizada e com mais financiamento. – Mas onde estão as provas? Dimka não teve como responder. Havia sido agressivo e dado o melhor de si, mas a sua posição era fraca. – Não temos provas nem de uma coisa, nem de outra – admitiu ele. – Precisamos discutir com base em possibilidades.
– Ou poderíamos esperar a situação ficar mais clara antes de armar Fidel. Em volta da mesa, várias pessoas concordaram com meneios de cabeça. Filipov tinha marcado um ponto importante contra Dimka. Foi nessa hora que Natalya falou: – Na verdade, temos algumas provas, sim. – Ela estendeu para Dimka as páginas datilografadas que estava lendo na praia. Ele passou os olhos pelo documento. Era um relatório do chefe da KGB nos Estados Unidos, intitulado “Operação Mangusto”. Enquanto ele lia rapidamente, Natalya prosseguiu: – Ao contrário do que argumenta o camarada Filipov, do Ministério da Defesa, a KGB tem certeza de que os americanos não desistiram de Cuba. Filipov ficou uma fera: – Por que esse documento não foi distribuído para todos nós? – Ele acabou de chegar de Washington – respondeu Natalya, calma. – Tenho certeza de que você vai receber uma cópia hoje à tarde. Natalya sempre parecia conseguir informações importantes um pouco antes de todo mundo, pensou Dimka. Era uma grande habilidade para um assessor. Ela com certeza devia ter grande valor para seu chefe Gromyko, ministro das Relações Exteriores. Certamente era por isso que tinha um cargo tão poderoso. Ficou pasmo com o que estava lendo. Aquilo significava que, graças a Natalya, ele iria vencer o debate daquele dia, mas era péssima notícia para a revolução cubana. – Isto aqui é ainda pior do que o camarada Kruschev temia! – exclamou. – A CIA tem equipes de sabotagem em Cuba prontas para destruir usinas de açúcar e de energia. É uma guerrilha! E eles estão tramando o assassinato de Fidel Castro! – Essas informações são confiáveis? – perguntou Filipov, desesperado. Dimka o encarou. – Qual é a sua opinião sobre a KGB, camarada? Filipov calou a boca. Dimka se levantou. – Sinto muito ter de encerrar prematuramente nossa reunião, mas acho que o primeirosecretário precisa ver este documento agora mesmo. – Ele saiu do prédio. Seguiu um caminho pelo meio da floresta de pinheiros até a casa de estuque branco de Kruschev. O interior estava decorado de maneira ousada, com cortinas brancas e móveis de madeira clara, como descorada pelo sol e pelo mar. Perguntou-se quem teria escolhido um estilo tão radicalmente contemporâneo; com certeza não o camponês Kruschev: se o premiê reparasse em decoração, decerto teria preferido estofados de veludo e tapetes com estampas florais. Dimka encontrou o líder na varanda do andar de cima, com vista para a baía. Kruschev estava segurando um potente binóculo da Komz.
Dimka não estava nervoso; sabia que Kruschev havia desenvolvido simpatia por ele. Seu chefe gostava do modo como ele resistia aos ataques dos outros assessores. – Pensei que o senhor gostaria de ver este relatório sem demora – falou. – A Operação Mangusto... – Acabei de ler – interrompeu Kruschev. Ele passou o binóculo para Dimka. – Olhe ali – falou, apontando para o outro lado do mar em direção à Turquia. O rapaz levou o binóculo aos olhos. – Mísseis nucleares americanos – disse Kruschev. – Apontados para a minha dacha! Dimka não conseguiu ver míssil algum. Não conseguiu sequer ver a Turquia, que ficava a quase 250 quilômetros naquela direção. Sabia, porém, que aquele gesto teatral típico de Kruschev estava certo na essência: os Estados Unidos haviam instalado na Turquia mísseis Júpiter, antiquados, mas certamente não obsoletos. Ele sabia isso graças ao seu tio Volodya, que trabalhava na Inteligência do Exército Vermelho. Não soube muito bem como agir. Será que deveria fingir estar vendo os mísseis pelo binóculo? Mas Kruschev com certeza sabia que isso era impossível. O premiê resolveu o problema arrancando o binóculo da sua mão. – E sabe o que eu vou fazer? – indagou ele. – Por favor, me diga. – Vou fazer Kennedy entender que sensação isso dá. Vou instalar mísseis nucleares em Cuba... apontados para a dacha dele! Dimka ficou sem palavras; por essa ele não esperava. E não conseguia pensar que fosse uma boa ideia. Concordava com o chefe que era preciso mais ajuda militar a Cuba e vinha enfrentando o Ministério da Defesa em relação a isso, mas agora Kruschev estava exagerando. – Mísseis nucleares? – repetiu, tentando ganhar tempo para pensar. – Exatamente! – Kruschev apontou para o relatório da KGB sobre a Operação Mangusto que Dimka ainda segurava. – E isso aí vai convencer o Politburo a me apoiar. Charutos envenenados. Essa é boa! – Nossa linha oficial até agora foi não usar armas nucleares em Cuba – disse Dimka no tom de quem está citando uma informação incidental, não defendendo um ponto de vista. – Nós demos essa garantia aos americanos várias vezes, e em público. Kruschev sorriu com um deleite travesso. – Nesse caso, Kennedy vai ficar ainda mais surpreso! Aquele seu comportamento deixava Dimka assustado. O primeiro-secretário não era bobo, mas tinha alma de jogador. Se aquela estratégia desse errado, poderia conduzir a uma humilhação diplomática que talvez lhe custasse a posição de líder e que, por conseguinte, poderia pôr fim à carreira do próprio Dimka. Pior ainda: aquilo poderia provocar justamente a invasão americana a Cuba que pretendia evitar – e sua amada irmã estava em Cuba. Havia até uma chance de aquilo provocar a guerra nuclear que poria fim ao capitalismo, ao comunismo e, muito possivelmente, à humanidade.
Por outro lado, Dimka não conseguiu conter uma certa animação. Que golpe tremendo seria aquilo contra os ricos e arrogantes irmãos Kennedy, contra a truculência mundial dos Estados Unidos e contra todo o bloco capitalista-imperialista! Se a estratégia desse certo, que triunfo para a URSS e para Kruschev! O que ele deveria fazer? Começou a pensar de forma prática e se esforçou para bolar maneiras de reduzir os riscos apocalípticos daquele plano. – Nós poderíamos começar assinando um tratado de paz com Cuba – falou. – Seria difícil para os americanos reclamarem sem admitir que estão planejando atacar um país pobre do Terceiro Mundo. – Kruschev não pareceu entusiasmado, mas não disse nada, então ele prosseguiu: – Depois poderíamos aumentar o fornecimento de armas convencionais. Aí também seria difícil Kennedy protestar: por que um país não poderia comprar armas para o seu exército? Por fim, poderíamos mandar os mísseis... – Não – disse Kruschev abruptamente. Ele nunca apreciava medidas graduais, pensou Dimka. – Não é isso que vamos fazer. Vamos mandar os mísseis para lá em segredo. Vamos colocá-los em caixas com os dizeres “encanamento de esgoto”, ou qualquer outra coisa. Nem mesmo os comandantes dos navios saberão o que elas contêm. Vamos mandar nossos artilheiros para Cuba a fim de montar os lança-mísseis. Os americanos não terão a menor ideia do que estaremos fazendo. As palavras causaram certa náusea em Dimka, tanto de medo quanto de empolgação. Mesmo na União Soviética, seria extraordinariamente difícil manter em segredo um projeto grande como aquele. Milhares de homens teriam de participar do encaixotamento das armas, de seu envio por trem até os portos e, por fim, de sua abertura e montagem em Cuba. Seria possível fazer todos eles ficarem calados? Apesar das reservas, não disse nada. – E então, quando as armas estiverem prontas para serem lançadas, faremos um anúncio – continuou Kruschev. – Será um fato consumado, e os americanos não poderão fazer nada a respeito. Era exatamente o tipo de gesto grandioso e dramático que Kruschev adorava, e Dimka percebeu que jamais conseguiria demovê-lo da ideia. – Fico pensando como o presidente Kennedy vai reagir a um anúncio desses – comentou, cauteloso. Kruschev deu um muxoxo de desdém. – Kennedy é um garoto... inexperiente, temeroso, fraco. – Claro – concordou Dimka, embora temesse que talvez o primeiro-secretário estivesse subestimando o jovem presidente. – Mas os americanos vão ter eleições de meio de mandato no dia 6 de novembro. Se revelarmos a existência dos mísseis durante a campanha, Kennedy vai sofrer grande pressão para tomar alguma atitude drástica de modo a evitar uma humilhação nas urnas. – Então é preciso guardar segredo até 6 de novembro.
– E quem vai fazer isso? – indagou Dimka. – Você. Vou colocá-lo à frente desse projeto. Você fará a ponte com o Ministério da Defesa, que terá de executar o plano. Caberá a você garantir que eles não deixem o segredo vazar antes de estarmos prontos. Chocado, o rapaz balbuciou: – Por que eu? – Você detesta aquele escroto do Filipov. Portanto, posso ter certeza de que vai pressionálo bastante. Estarrecido, Dimka se perguntou como Kruschev sabia que ele odiava Filipov. O Exército teria de cumprir uma tarefa quase impossível e, se algo desse errado, a culpa seria dele. Que catástrofe! Mas ele sabia que não podia falar nada. – Obrigado, Nikita Sergueievitch – retrucou, de modo formal. – Pode contar comigo.
CAPÍTULO QUINZE
A limusine GAZ-13 se chamava Gaivota por causa das laterais traseiras aerodinâmicas em estilo americano. Podia chegar a 160 quilômetros por hora, embora andar a essa velocidade nas estradas soviéticas não fosse lá muito confortável. Apesar de também estar disponível em dois tons de bordô ou creme com pneus de risca branca, a de Dimka era preta. Sentado no banco de trás, ele aguardou o carro se aproximar do cais do porto de Sebastopol, na Ucrânia. Situada bem na pontinha da Península da Crimeia, a cidade adentrava o Mar Negro. Vinte anos antes, fora arrasada pelas bombas e pela artilharia alemãs. Depois da guerra, fora reconstruída como um alegre balneário, com varandas mediterrâneas e arcos inspirados em Veneza. Dimka desceu e observou o navio no cais, um cargueiro de transporte de madeira, com imensos compartimentos de carga projetados para comportar troncos inteiros. Sob o sol quente do verão, estivadores carregavam esquis e caixotes com etiquetas bem visíveis de roupas de inverno, para parecer que o destino da embarcação era o norte gelado. Dimka inventara o nome deliberadamente enganoso de Operação Anadyr, em homenagem a uma cidade na Sibéria. Uma segunda limusine Gaivota chegou ao cais e parou atrás da de Dimka. Quatro homens com uniformes da Inteligência do Exército Vermelho saltaram e ficaram parados, aguardando suas instruções. Uma ferrovia passava rente ao cais, e um imenso guindaste montado sobre os trilhos transferia carga diretamente dos vagões para o navio. Dimka olhou para o relógio de pulso. – A porra do trem já deveria ter chegado. Estava uma pilha de nervos. Nunca sentira tanta tensão na vida. Antes de começar aquele projeto, nem sequer sabia o que era estresse. O oficial do Exército Vermelho mais graduado era coronel e se chamava Pankov. Apesar da patente, dirigiu-se a Dimka de maneira respeitosa e formal: – Quer que eu telefone para me informar, Dmitri Ilich? – Acho que ele está vindo – disse um segundo oficial, o tenente Meyer. Dimka olhou para os trilhos ao longe e viu, aproximando-se lentamente, uma fila de vagões abertos e baixos carregados com caixotes de madeira. – Porra! Por que todo mundo acha que não tem problema chegar quinze minutos atrasado? Estava preocupado com espiões. Já tinha visitado o chefe da estação da KGB em Sebastopol e verificado a sua lista de suspeitos nas redondezas. Eram todos dissidentes: poetas, padres, pintores de arte abstrata ou judeus desejosos de se mudar para Israel – os típicos descontentes com o sistema soviético, tão ameaçadores quanto um clube de ciclistas. Dimka mandara prender todos eles mesmo assim, mas nenhum parecia perigoso. Era quase
certo que houvesse agentes da CIA de verdade em Sebastopol, mas a KGB não sabia quem eram. Um homem em uniforme de comandante veio descendo a passarela do navio e falou com Pankov: – É o senhor quem manda aqui, coronel? Pankov meneou a cabeça na direção de Dimka. O comandante se tornou menos deferente. – Meu navio não pode ir para a Sibéria – falou. – O seu destino é uma informação ultrassecreta – retrucou Dimka. – Não o mencione. Em seu bolso, ele trazia um envelope lacrado que o comandante deveria abrir quando saísse do Mar Negro e entrasse no Mediterrâneo. Nesse momento ele ficaria sabendo que seu destino era Cuba. – Preciso de lubrificante para temperaturas frias, anticongelante, equipamento para degelo... – Cale a porra da boca. – Mas eu preciso protestar. As condições na Sibéria... – Dê um soco na boca dele – disse Dimka ao tenente Meyer. Meyer era um homem grande e o golpe foi forte. O comandante caiu para trás com os lábios sangrando. – Volte para o seu navio, aguarde as ordens e mantenha essa porcaria dessa boca fechada – ordenou Dimka. O comandante se retirou, e os homens reunidos no cais tornaram a prestar atenção no trem que se aproximava. A Operação Anadyr era imensa. O trem que vinha chegando era o primeiro de outros dezenove iguais a ele, todos encarregados de trazer apenas aquele primeiro regimento de mísseis até Sebastopol. Ao todo, Dimka estava despachando cinquenta mil homens e 230 mil toneladas de equipamento para Cuba. Sua frota tinha 85 navios. Ele ainda não sabia como conseguiria manter tudo aquilo em segredo. Muitos dos homens com cargos de autoridade na URSS eram descuidados, preguiçosos, bêbados ou pura e simplesmente burros. Não entendiam as instruções recebidas, esqueciam, abordavam tarefas desafiadoras sem muito entusiasmo e depois desistiam, e às vezes apenas decidiam que sabiam fazer melhor. Tentar convencê-los pela lógica era inútil; tentar conquistá-los pelo charme era ainda pior. Tratá-los com amabilidade os fazia pensar que você era um tolo que podia ser ignorado. O trem avançou devagar junto ao navio; seus freios chiaram, aço contra aço. Cada vagão especialmente construído carregava apenas um caixote de madeira de 24 metros de comprimento, 3 de largura e 3 de altura. Um operador subiu no guindaste e entrou na cabine de controle. Estivadores pularam nos vagões e começaram a preparar os caixotes para serem transferidos. Uma companhia de soldados, que tinha viajado a bordo do trem, começou a
ajudar os estivadores. Dimka ficou aliviado ao ver que o regimento de mísseis tinha removido as insígnias dos uniformes, de acordo com as suas instruções. Um homem em trajes civis saltou de um carro e Dimka se irritou ao ver que era Yevgeny Filipov, que ocupava cargo equivalente ao seu no Ministério da Defesa. Como o comandante do navio, Filipov primeiro se dirigiu a Pankov, mas o coronel disse: – Quem está no comando aqui é o camarada Dvorkin. Filipov deu de ombros. – Só alguns minutos de atraso – falou, com ar satisfeito. – Ficamos presos por causa de... Dimka então reparou em uma coisa. – Ah, não – falou. – Puta que pariu! – Algum problema? – indagou Filipov. Dimka bateu com os pés no cais de concreto. – Puta que pariu! – O que foi? – Quem é o responsável pelo trem? – perguntou-lhe Dimka, enfurecido. – O coronel Kats nos acompanhou. – Traga esse imbecil para falar comigo agora mesmo. Filipov não gostava de obedecer às ordens de Dimka, mas não podia recusar um pedido desses; afastou-se para chamar o colega. Pankov olhou para Dimka sem entender. – Está vendo aquilo ali gravado na lateral de cada caixote? – indagou ele, com um tom de raiva e exaustão. Pankov assentiu. – É um número de código do Exército. – Exato – falou Dimka, amargurado. – Significa “míssil balístico R-12”. – Ai, que merda. Furioso e impotente, Dimka balançou a cabeça. – Tem gente que nem torturando... Ele já temia que mais cedo ou mais tarde fosse ter um conflito com o Exército, mas, pensando bem, era até melhor que isso acontecesse agora, no primeiro carregamento. E ele estava preparado. Filipov voltou acompanhado por um coronel e um major. – Bom dia, camaradas – disse o oficial mais graduado. – Sou o coronel Kats. Houve um pequeno atraso, mas, tirando isso, está tudo correndo... – Não está não, seu babaca retardado! – disparou Dimka. Kats não acreditou no que tinha ouvido. – Como disse? – Escute aqui, Dvorkin, você não pode falar assim com um oficial – interveio Filipov. Dimka o ignorou e seguiu falando com Kats:
– Com sua desobediência, o senhor pôs em risco a segurança de toda esta operação. Suas ordens eram cobrir com tinta os números do Exército gravados nos caixotes. O senhor recebeu moldes vazados com os dizeres “Tubulação Plástica para Construção Civil”. Deveria ter gravado isso nos caixotes. – Não deu tempo! – rebateu Kats, indignado. – Seja sensato, Dvorkin – disse Filipov. Dimka suspeitava que o colega da Defesa fosse ficar feliz se o segredo vazasse, pois a credibilidade de Kruschev seria prejudicada e o premiê poderia até cair. Apontou para o sul, na direção do mar. – Olhe ali, seu idiota: a menos de 250 quilômetros naquela direção tem um país da OTAN, porra! Por acaso não sabe que os americanos têm espiões? E que eles mandam esses espiões para lugares como Sebastopol, que é uma base naval e um porto soviético importante? – Os dizeres estão em código... – Em código? O seu cérebro é feito de quê? Cocô de cachorro? Que treinamento imagina que os espiões capitalistas recebem? Eles aprendem a reconhecer as divisas dos uniformes, como por exemplo a insígnia do regimento de mísseis que o senhor está usando na lapela, também contrariando as minhas ordens, além de outros emblemas e códigos de equipamentos militares. Em toda a Europa, qualquer traidor e informante da CIA sabe ler os códigos militares desses caixotes, seu imbecil de merda. Kats tentou manter a dignidade. – Quem está pensando que é? – questionou. – Não se atreva a falar assim comigo. Eu tenho filhos mais velhos que o senhor. – O senhor não está mais no comando desta operação – falou Dimka. – Não seja ridículo. – Mostre a ele, por favor. O coronel Pankov tirou do bolso uma folha de papel que entregou a Kats. – Como pode ver nesse documento, eu tenho autoridade para isso. – Percebeu que Filipov estava de queixo caído. – O senhor está preso por traição. Acompanhe esses homens. O tenente Meyer e outro integrante do grupo de Pankov se posicionaram com agilidade dos lados de Kats, seguraram-no pelos braços e o conduziram até a limusine. Filipov recobrou o domínio de si. – Dvorkin, pelo amor de Deus... – Se não tiver nada útil para dizer, nem adianta abrir a porra dessa boca – disparou Dimka. Então virou-se para o major do regimento de mísseis, que até então não pronunciara uma só palavra. – O senhor é o segundo de Kats? O homem exibia uma expressão aterrorizada. – Sim, camarada. Major Spektor, ao seu dispor. – Quem está no comando agora é o senhor. – Obrigado.
– Tire esse trem da minha frente. Ao norte daqui há um grande complexo de garagens ferroviárias. Combine com a administração da ferrovia parar lá por doze horas enquanto os dizeres dos caixotes são trocados. Traga o trem de volta amanhã. – Sim, camarada. – O coronel Kats vai passar o resto da vida, que não vai ser muito longa, em um campo de trabalho na Sibéria. Portanto, major Spektor, é melhor o senhor não cometer nenhum erro. – Sim, camarada. Dimka entrou na limusine. Enquanto se afastava, passou por Filipov, que continuava em pé no cais com cara de quem não entendia direito o que acabara de acontecer.
Tanya Dvorkin estava em pé no cais de Mariel, litoral norte de Cuba, a 40 quilômetros de Havana, onde uma estreita enseada se abria para um imenso porto natural escondido entre os morros em volta. Nervosa, olhou para o navio soviético atracado a um píer de concreto. No píer, um caminhão soviético ZIL-130 rebocava um trailer de 25 metros. Uma grua retirava um caixote de madeira comprido do compartimento de carga do navio e o movia muito lentamente pelo ar em direção ao caminhão. No caixote estava escrito em russo: “Tubulação Plástica para Construção Civil”. Ela viu tudo isso à luz de refletores. Por ordem de seu irmão, os navios tinham de ser descarregados à noite. Todas as outras embarcações haviam sido retiradas do porto. Barcos de patrulha tinham fechado a enseada. Mergulhadores vasculhavam as águas em volta do navio para protegê-lo de qualquer ameaça submarina. O nome de Dimka era pronunciado em tom de medo: diziam que sua palavra era lei e que sua ira era terrível. Tanya estava escrevendo para a TASS matérias sobre como a União Soviética vinha ajudando Cuba e sobre a imensa gratidão do povo cubano pela amizade daquele aliado distante do outro lado do planeta. A verdade, porém, ela reservava para as mensagens codificadas que mandava, por cabo, para o irmão no Kremlin, usando o sistema telegráfico da KGB. E agora Dimka também lhe atribuíra a tarefa informal de garantir que as suas instruções fossem cumpridas à risca. Por isso ela estava tão nervosa. Ao seu lado estava o general Paz Oliva, o homem mais lindo que Tanya já conhecera. A beleza de Paz era de tirar o fôlego: ele era alto, forte e um pouco assustador, mas só até sorrir e falar com uma voz suave de baixo que a fazia pensar nas cordas de um violoncelo sendo acariciadas pelo arco. Tinha 30 e poucos anos; a maioria dos militares de Fidel Castro era jovem. Com a pele morena e os cabelos cacheados, parecia mais negro do que hispânico. Ele era um modelo da política de igualdade racial de Fidel, tão diferente da de Kennedy. Tanya adorava Cuba, mas isso levara algum tempo para acontecer. Sentia mais saudades de Vasili do que imaginara. Agora percebia quanto gostava dele, mesmo que os dois nunca tivessem sido amantes. Preocupava-se com ele no campo de trabalho da Sibéria, sentindo
fome e frio. A campanha pela qual ele fora punido – divulgar a doença do cantor Ustin Bodian – tivera sucesso, por assim dizer: Bodian tinha sido solto, mas morrera pouco depois em um hospital de Moscou. Vasili consideraria essa ironia reveladora. Com algumas coisas ela não conseguia se acostumar. Embora nunca fizesse frio, ainda vestia um casaco para sair. Ficava enjoada de comer feijão com arroz e, para a própria surpresa, pegava-se ansiando por uma tigela de kasha com creme azedo. No verão, após uma sequência interminável de dias de sol forte, às vezes torcia por um temporal que viesse refrescar as ruas. Os camponeses cubanos eram tão pobres quanto os soviéticos, mas pareciam mais felizes; talvez por causa do clima. Depois de algum tempo, a irrefreável alegria de viver do povo de Cuba acabou fisgando Tanya. Ela passou a fumar charutos e a tomar rum com tuKola, substituto local da Coca-Cola. Adorava dançar com Paz ao ritmo sensual e irresistível da música tradicional conhecida como trova. Fidel tinha fechado quase todas as boates, mas ninguém conseguia impedir os cubanos de tocar violão, e os músicos agora se apresentavam em pequenos bares chamados casas de la trova. Mas os cubanos a deixavam preocupada. Eles haviam desafiado seu gigante vizinho, os Estados Unidos, situado a menos de 150 quilômetros de distância do outro lado do Estreito da Flórida, e Tanya sabia que um dia poderiam ser punidos. Quando pensava nisso, sentia-se como uma ave-do-crocodilo, corajosamente pousada entre as mandíbulas abertas do grande réptil, ciscando comida em uma fileira de dentes que pareciam lâminas de faca. Será que a atitude desafiadora dos cubanos valeria a pena? Só o tempo diria. Tanya via com pessimismo a probabilidade de reformar o comunismo, mas algumas das coisas que Fidel tinha feito eram admiráveis. Em 1961, o Ano da Educação, dez mil estudantes tinham se deslocado para a zona rural para ensinar os camponeses a ler, uma cruzada heroica para erradicar o analfabetismo em uma única campanha. A primeira frase ensinada era “Os camponeses trabalham na cooperativa”, mas e daí? Pessoas alfabetizadas eram mais capazes de reconhecer a propaganda do governo como o que ela de fato era. Fidel estava longe de ser bolchevique. Desdenhava a ortodoxia e vivia à procura de novas ideias. Era por isso que incomodava tanto o Kremlin. Mas ele também não era nenhum democrata. Tanya ficou triste quando ele anunciou que a revolução tinha tornado as eleições desnecessárias. E havia uma área em que ele imitava servilmente a União Soviética: a conselho da KGB, criara uma polícia secreta de eficiência implacável para eliminar a dissidência. Pesando tudo, Tanya desejava sorte para a revolução. Cuba precisava escapar do subdesenvolvimento e do colonialismo. Ninguém queria os americanos de volta com seus cassinos e prostitutas. Mas ela ficava pensando se os cubanos um dia teriam autonomia para tomar as próprias decisões. A hostilidade dos americanos os fizera correr para os braços dos soviéticos, mas, quanto mais Fidel se aproximava da URSS, maior era a probabilidade de sofrer uma invasão dos Estados Unidos. O que Cuba precisava mesmo era ser deixada em paz.
Mas talvez agora houvesse uma chance de isso acontecer. Tanya e Paz pertenciam ao pequeno grupo de pessoas que sabiam o que continham aqueles compridos caixotes de madeira. Ela se reportava diretamente a Dimka em relação à eficácia do plano de segurança. Se a operação desse certo, talvez conseguisse proteger Cuba permanentemente do perigo de uma invasão americana, e dar ao país alguma margem de manobra para encontrar o próprio caminho no futuro. Pelo menos essa era a sua esperança. Fazia um ano que ela conhecia Paz. Enquanto observavam o caixote ser posicionado sobre o trailer, comentou: – Você nunca fala sobre a sua família. – Dirigiu-se a ele em espanhol; agora já dominava razoavelmente bem a língua. Arranhava também um pouco do inglês com sotaque americano que muitos cubanos usavam de vez em quando. – Minha família é a revolução – disse ele. Até parece, pensou ela. Mesmo assim, provavelmente iria para a cama com ele. Paz talvez viesse a se revelar uma versão morena de Vasili: belo, charmoso e infiel. Provavelmente, uma fila de graciosas moças cubanas de olhos brilhantes se revezava em sua cama. Disse a si mesma para não ser cínica. O simples fato de um homem ser deslumbrante não fazia dele obrigatoriamente um Don Juan desmiolado. Talvez Paz estivesse apenas esperando a mulher certa para se tornar sua companheira e trabalhar ao seu lado na missão de construir uma nova Cuba. O caixote contendo o míssil foi amarrado à caçamba do trailer. Paz foi abordado por um tenente baixinho e obsequioso chamado Lorenzo. – Estamos prontos para partir, general. – Podem ir – respondeu Paz. O caminhão se afastou lentamente do cais. Várias motocicletas ligaram o motor e partiram na frente do caminhão para liberar a estrada. Tanya e Paz entraram no carro militar do general, um furgão Buick Le Sabre verde, e seguiram o comboio. As estradas cubanas não tinham sido projetadas para caminhões de 25 metros. Nos últimos três meses, engenheiros do Exército Vermelho haviam construído pontes novas e reconfigurado as curvas mais fechadas, mas, mesmo assim, na maior parte do tempo o comboio avançava a passos de tartaruga. Tanya reparou, aliviada, que todos os outros veículos tinham sido removidos das estradas. Nos vilarejos pelos quais passaram, as casas de madeira de dois cômodos e pé-direito baixo estavam às escuras, e os bares todos fechados. Dimka ficaria satisfeito. Tanya sabia que, lá no cais, outro míssil já estava sendo carregado em outro caminhão. O trabalho vararia a noite até o amanhecer. Descarregar o lote inteiro levaria duas noites. Até o momento, a estratégia de Dimka estava funcionando: ninguém parecia desconfiar do
que a União Soviética fazia em Cuba. Não havia nenhum ruído a respeito no circuito diplomático nem nas páginas não controladas dos jornais do Ocidente. O temido clamor de indignação da Casa Branca ainda não acontecera. Mas ainda faltavam dois meses para as eleições legislativas nos Estados Unidos; mais dois meses até aqueles imensos mísseis ficarem prontos para serem lançados em total sigilo. Tanya não tinha certeza de que seria possível. Duas horas mais tarde, eles chegaram a um amplo vale, agora ocupado pelo Exército Vermelho, onde engenheiros construíam uma base de lançamento. Era apenas um entre mais de uma dúzia de pontos escondidos em meio aos contornos das montanhas por todos os 1.250 quilômetros de extensão da ilha de Cuba. Tanya e Paz saltaram do carro para ver o caixote ser descarregado do caminhão, novamente sob a luz de refletores. – Conseguimos – disse o militar em tom satisfeito. – Nós agora temos armas nucleares. Ele sacou um charuto e o acendeu. – Quanto tempo vai levar para prepará-los? – indagou Tanya, cautelosa. – Não muito – respondeu ele, sem dar importância. – Umas duas semanas. O general não estava com disposição para pensar em problemas, mas, para Tanya, aquilo parecia poder durar mais de duas semanas. O vale era um local de construção poeirento, onde até então pouca coisa tinha sido feita. Mesmo assim, Paz tinha razão: eles já haviam conseguido o mais difícil, que era levar as armas nucleares até Cuba sem que os americanos descobrissem. – Olhe só aquele bebê – disse Paz. – Um dia ele poderá aterrissar bem no meio de Miami. Bum. Pensar nisso fez Tanya ter um calafrio. – Espero que não. – Por quê? Será que ele precisa mesmo ouvir o motivo? – O objetivo dessas armas é ser uma ameaça. É deixar os americanos com medo de invadir Cuba. Se elas um dia forem usadas, terão fracassado. – Pode ser. Mas, se eles nos atacarem, poderemos riscar do mapa cidades americanas inteiras. Tanya ficou incomodada com o óbvio deleite que essa terrível possibilidade causava no general. – E do que iria adiantar? Paz pareceu espantado com a pergunta. – Vai preservar a dignidade da nação cubana. – Ele pronunciou a palavra espanhola dignidad como se fosse sagrada. Tanya mal conseguiu acreditar no que estava escutando. – Quer dizer que você daria início a uma guerra nuclear em nome da sua dignidade?
– Claro. O que poderia ser mais importante? – A sobrevivência da raça humana, para começar! – respondeu ela, indignada. Ele acenou com o charuto aceso em um gesto de desdém. – Você se preocupa com a raça humana; eu, com a minha honra. – Puta merda – disse ela. – Você está louco? Paz a encarou. – O presidente Kennedy está preparado para usar armas nucleares se os Estados Unidos forem atacados. O premiê Kruschev as usará se a União Soviética for atacada. O mesmo vale para De Gaulle, na França, e para quem quer que seja o líder da Grã-Bretanha. Se algum deles disser algo diferente, será deposto em questão de horas. – Ele tragou o charuto, fazendo a ponta se acender até ficar vermelha, em seguida soltou a fumaça. – Se eu estou louco, todos eles também estão.
George Jakes não sabia qual era a emergência. Na manhã de terça-feira, 16 de outubro, Bobby Kennedy convocou a ele e a Dennis Wilson para uma reunião de crise na Casa Branca. Seu melhor palpite era que o assunto seria a manchete do The New York Times daquele dia, cujo título era:
EISENHOWER CONSIDERA O PRESIDENTE FRACO EM POLÍTICA EXTERNA
A regra implícita era que ex-presidentes não atacassem seus sucessores, mas George não estava surpreso por Eisenhower ter ignorado essa convenção. Jack Kennedy ganhara a eleição tachando seu adversário de fraco e inventando um “diferencial de mísseis” inexistente a favor dos soviéticos. Estava claro que o golpe ainda doía em Ike. Agora que Kennedy estava vulnerável a uma acusação parecida, seu antecessor estava se vingando – exatamente três semanas antes das eleições legislativas de meio de mandato. A outra possibilidade era pior. O grande temor de George era que a Operação Mangusto tivesse vazado. A revelação de que o presidente e seu irmão estavam organizando ações terroristas internacionais serviria de munição para qualquer candidato republicano. Eles diriam que os Kennedy eram criminosos por agir assim e tolos por deixarem o segredo vazar. E quem poderia saber as represálias que Kruschev seria capaz de conceber? Logo viu que seu chefe estava irado. Bobby não tinha nenhum talento para esconder os próprios sentimentos. A raiva transparecia na contração de seu maxilar, nos ombros curvados e na expressão gélida de seus olhos azuis. George gostava de Bobby por suas emoções sinceras. Todos os que trabalhavam com ele muitas vezes podiam ver o que ele estava sentindo. Isso o tornava mais vulnerável, porém mais carismático também.
Quando entraram na Sala do Gabinete, o presidente já estava lá. Sentado do lado oposto de uma mesa comprida sobre a qual havia diversos cinzeiros grandes, posicionado bem no centro, com o selo presidencial na parede logo atrás, um pouco mais acima. De cada lado do selo, altas janelas em arco davam para o Roseiral da Casa Branca. Ao seu lado estava uma menina pequena de vestido branco que obviamente devia ser sua filha Caroline, que ainda não tinha completado 5 anos. Seus cabelos castanho-claros curtos estavam repartidos de lado, iguais aos do pai, e presos por uma fivela simples. Ela conversava com ele, muito séria, explicando algo, e ele a escutava com atenção, como se as suas palavras fossem tão importantes quanto qualquer outra coisa que pudesse ser dita ali, naquela sala de poder. George ficou profundamente impressionado com a forte conexão entre pai e filha. Se um dia eu for pai de uma menina, pensou, vou escutá-la assim, para ela saber que é a pessoa mais importante do mundo. Os assessores assumiram seus lugares junto à parede. George sentou-se ao lado de Skip Dickerson, que trabalhava para o vice Lyndon Johnson. Skip tinha cabelos lisos muito louros e pele clara; parecia quase albino. Afastou a franja loura dos olhos e perguntou, com um sotaque sulista: – Faz alguma ideia de onde é o incêndio? – Bobby não quis dizer – respondeu George. Uma mulher que ele não conhecia entrou na sala e levou Caroline embora. – A CIA tem novidades para nós – disse o presidente. – Vamos começar. Nos fundos da sala, em frente à lareira, um cavalete exibia uma grande fotografia em preto e branco. O homem em pé ao seu lado se apresentou: era um especialista em interpretação de imagens. George nem sabia que essa profissão existia. – As fotos que vocês vão ver agora foram tiradas no domingo por uma aeronave U-2 de grande altitude da CIA que estava sobrevoando Cuba. A existência dos aviões espiões da CIA era notória. Os soviéticos tinham abatido um deles na Sibéria dois anos antes e processado o piloto por espionagem. Todos olharam para a foto borrada e granulosa sobre o cavalete, que, aos olhos de George, não mostrava nada reconhecível a não ser árvores, talvez. Eles precisavam de um intérprete para saber o que estavam vendo. – Isto aqui é um vale em Cuba a uns 30 quilômetros do porto de Mariel – disse o perito da CIA, apontando com um pequeno bastão. – Uma estrada nova de boa qualidade conduz a um grande descampado. Essas formas pequeninas espalhadas em volta são veículos de construção: escavadeiras, retroescavadeiras e caminhões de entulho. E aqui... – Ele bateu na imagem para enfatizar o que dizia. – Aqui, bem no meio, dá para ver um grupo de formas que parecem tábuas de madeira enfileiradas. Na realidade são caixotes de 25 metros de comprimento por 3 de largura, exatamente o tamanho e o formato necessários para comportar um míssil balístico intermediário soviético R-12, projetado para carregar uma ogiva nuclear. Foi por pouco que George conseguiu se conter e não exclamar um puta merda, mas à sua
volta houve quem não fosse tão controlado e, por alguns segundos, a sala se encheu de palavrões ditos em tom de surpresa. – Vocês têm certeza? – perguntou alguém. O perito tornou a apontar. – Eu estudo fotos de reconhecimento aéreo há muitos anos, meu senhor, e posso lhe garantir duas coisas: primeiro, esse é exatamente o aspecto de mísseis nucleares, e segundo, nenhuma outra coisa tem esse aspecto. Que Deus nos proteja, pensou George, assustado: os malditos cubanos têm armas nucleares. – E como é que eles foram parar lá? – perguntou outra pessoa. – Está claro que os soviéticos os levaram em condições de total sigilo – respondeu o perito. – Bem debaixo dos nossos narizes, porra! – exclamou quem tinha feito a pergunta. – E qual é o alcance desses mísseis? – quis saber um terceiro participante. – Mais de 1.600 quilômetros. – Quer dizer que eles poderiam atingir... – Este prédio. George teve de reprimir o impulso de se levantar e sair dali naquele mesmo instante. – E quanto tempo levaria? – Para o míssil chegar aqui vindo de Cuba? Pelos nossos cálculos, treze minutos. Involuntariamente, George olhou para as janelas, como se pudesse ver um míssil se aproximando pelo Roseiral. – Kruschev mentiu para mim, aquele filho da puta – concluiu o presidente. – Ele me garantiu que não iria pôr mísseis nucleares em Cuba. – E a CIA nos disse para acreditar nele – completou Bobby. – Isso com certeza vai dominar as três semanas que faltam de campanha eleitoral – observou alguém. Com alívio, George começou a pensar nas consequências políticas domésticas: a possibilidade de uma guerra nuclear era terrível demais para ser considerada. Pensou na edição daquela manhã do The New York Times. Eisenhower agora podia dizer muito mais coisa! Pelo menos, quando ele era presidente, não permitira que a URSS transformasse Cuba em uma base nuclear comunista. Aquilo era um desastre, e não apenas para a política externa. Uma vitória republicana em novembro significaria que Kennedy não poderia fazer mais nada em seus últimos dois anos no poder; seria o fim da batalha pelos direitos civis. Com mais republicanos engrossando o time dos democratas sulistas na oposição à igualdade para os negros, Kennedy não teria a menor chance de fazer passar uma Lei de Direitos Civis. Quanto tempo o avô de Maria teria de esperar para poder tirar seu título de eleitor sem ir para a cadeia? Em política, tudo estava interligado.
Precisamos fazer alguma coisa em relação a esses mísseis, pensou George. Só não tinha a menor ideia do quê. Felizmente, Jack Kennedy tinha. – Em primeiro lugar, temos de intensificar a vigilância de Cuba pelos U-2 – disse o presidente. – Precisamos saber quantos mísseis eles têm e onde estão. E, quando soubermos, juro por Deus que vamos destruí-los. George se animou. De repente, o problema não lhe pareceu mais tão grave assim. Os Estados Unidos tinham centenas de aeronaves e milhares de bombas. O fato de o presidente tomar atitudes decididas e agressivas para proteger o país não faria mal aos democratas nas legislativas. Todos olharam para o general Maxwell Taylor, chefe do Estado-Maior Conjunto e principal comandante militar dos Estados Unidos depois do presidente. Seus cabelos ondulados lustrosos de brilhantina e repartidos bem no alto da cabeça fizeram George pensar que ele talvez fosse um homem vaidoso. Tanto Jack quanto Bobby confiavam em Taylor, mas ele não sabia muito bem por quê. – Um ataque aéreo precisaria ser seguido por uma invasão integral a Cuba – disse o general. – E nós temos um plano de contingência para isso. – Podemos desembarcar 150 mil homens lá uma semana depois do bombardeio. Kennedy ainda estava pensando em destruir os mísseis soviéticos. – Temos a garantia de que todas as bases em Cuba serão destruídas? – indagou ele. – Nunca vamos poder ter cem por cento de certeza, presidente – respondeu Taylor. George não tinha pensado nesse porém. Cuba tinha 1.250 quilômetros de extensão. A Força Aérea talvez não conseguisse encontrar todas as bases, que dirá destruí-las. – E imagino que qualquer míssil restante depois do nosso ataque aéreo seria disparado imediatamente contra os Estados Unidos – continuou Kennedy. – Sim, presidente, temos de partir desse princípio – concordou Taylor. Kennedy ostentou um ar sombrio, e George teve uma súbita e vívida percepção do enorme peso da responsabilidade que ele tinha de suportar. – Me diga uma coisa – pediu. – Se um míssil atingisse uma cidade americana de médio porte, qual seria o estrago? A política eleitoral desapareceu da mente de George, e mais uma vez seu coração gelou ao pensar na terrível possibilidade de um conflito nuclear. O general Taylor confabulou por alguns instantes com seus assessores antes de tornar a se virar para a mesa. – Pelos nossos cálculos, presidente, 600 mil pessoas iriam morrer.
CAPÍTULO DEZESSEIS
Anya, mãe de Dimka, queria conhecer Nina. Isso o deixou espantado. Estava animado com o namoro e dormia com ela sempre que tinha oportunidade, mas o que isso tinha a ver com sua mãe? Quando lhe fez essa pergunta, Anya respondeu com irritação: – Você era o menino mais inteligente da escola, mas às vezes pode ser mesmo um bobo. Escute aqui: todos os fins de semana em que não está viajando com Kruschev você passa com essa mulher. É óbvio que ela é importante. Faz três meses que estão saindo. É claro que a sua mãe quer saber que cara ela tem! Que pergunta é essa? Ela estava certa, pensou. Nina não era só uma pretendente, nem mesmo um simples flerte. Era sua namorada. Tinha se tornado parte da sua vida. Apesar de amar a mãe, Dimka não lhe obedecia em tudo: ela não aprovava sua moto, sua calça jeans ou seu amigo Valentin. Mesmo assim, para agradá-la faria qualquer coisa dentro dos limites do razoável, então convidou Nina para ir visitá-los. No início, ela recusou. – Não quero ser inspecionada pela sua família como um carro usado que você está pensando em comprar – disse, ressentida. – Diga à sua mãe que eu não quero me casar. Ela logo vai perder o interesse por mim. – Não é minha família. É só ela – garantiu-lhe Dimka. – Meu pai já morreu e minha irmã está em Cuba. E, afinal, o que você tem contra o casamento? – Por quê? Você está pedindo a minha mão? Ele ficou encabulado. Nina era empolgante e sensual, e ele nunca sequer chegara perto daquele grau de envolvimento com uma mulher, mas casar-se não havia lhe passado pela cabeça. Será que ele queria passar o resto da vida ao seu lado? Esquivou-se da pergunta: – Só estou tentando entender você. – Eu já fui casada e não gostei. Entendeu agora? Nina era naturalmente desafiadora. Ele não ligava; era parte do que a tornava tão empolgante. – Você prefere ser solteira – falou. – Claro. – O que tem de tão bom nisso? – Como eu não preciso agradar a nenhum homem, posso agradar a mim mesma. E quando quero alguma outra coisa posso sair com você. – E eu me encaixo direitinho nesse espaço. O duplo sentido da frase a fez sorrir.
– Exatamente. No entanto, ela passou algum tempo pensativa; então falou: – Ah, que droga, não quero transformar sua mãe numa inimiga. Eu vou. No dia marcado, Dimka estava nervoso. Nina era imprevisível. Quando acontecia alguma coisa que lhe desagradava – um prato quebrado por descuido, um tropeço real ou imaginário, um leve tom de reprovação na voz dele –, sua reação era como uma rajada do vento norte de Moscou em pleno mês de janeiro. Torceu para ela se dar bem com Anya. Era a primeira vez que Nina entrava na Casa do Governo. Ficou impressionada com a portaria, do mesmo tamanho de um pequeno salão de baile. Apesar de não ser grande, o apartamento tinha acabamentos luxuosos em comparação com a maioria dos lares moscovitas: tapetes felpudos, papel de parede caro e um móvel radiola, um armário de madeira que conjugava toca-discos e rádio. Esses eram os privilégios dos altos oficiais da KGB, como o pai de Dimka. Anya havia preparado uma farta variedade de aperitivos, que os moscovitas preferiam a um jantar formal: arenque defumado e ovos cozidos com pimenta vermelha sobre pão branco; pequenos sanduíches de pepino e tomate no pão de centeio; e sua pièce de résistance, uma travessa de “barquinhos a vela”, torradas de formato oval com triângulos de queijo na vertical, presos por um palito, como se fossem velas. Anya estava usando um vestido novo e maquiagem leve. Tinha engordado um pouco desde a morte do marido, e os quilos extras lhe caíam bem. Dimka sentia que a mãe ficara mais feliz depois que seu pai morrera. Talvez Nina estivesse certa em relação ao casamento. A primeira coisa que Anya disse a Nina foi: – Meu Dimka tem 23 anos, mas esta é a primeira vez que ele traz uma garota para casa. Desejou que a mãe não tivesse feito esse comentário; assim ele ficava parecendo um principiante. Era mesmo um principiante, e Nina já percebera havia muito tempo, mas nem por isso precisava que alguém lhe recordasse o fato. De todo modo, estava aprendendo depressa. Nina dizia que ele era bom amante, melhor do que seu ex-marido, embora não entrasse em detalhes. Para surpresa dele, Nina se esforçou para ser simpática com sua mãe, chamando-a educadamente de Anya Grigorivitch, ajudando-a na cozinha, perguntando-lhe onde havia comprado o vestido. Depois de tomarem um pouco de vodca, Anya relaxou o suficiente para dizer: – Mas Nina, meu Dimka me disse que você não quer se casar. Dimka grunhiu. – Mãe, isso é um assunto pessoal! Mas Nina não pareceu se importar. – Eu sou como a senhora: já fui casada – falou. – Mas eu sou velha. Anya tinha 45 anos, idade em geral considerada avançada demais para segundas núpcias.
Considerava-se que, para mulheres dessa idade, o desejo fosse coisa do passado; caso contrário, elas eram malvistas. Uma viúva respeitável que se casasse na meia-idade tomava sempre o cuidado de dizer a todo mundo que era “só pela companhia”. – A senhora não parece velha, Anya Grigorivitch – disse Nina. – Poderia ser a irmã mais velha de Dimka. Era mentira, mas mesmo assim Anya gostou do comentário. Talvez as mulheres sempre apreciassem aquele tipo de elogio, independentemente da credibilidade. De todo modo, ela não protestou. – Enfim, sou velha demais para ter outros filhos. – Eu também não posso ter filhos. – Ah! – Anya ficou abalada com essa revelação, que atrapalhava todas as suas fantasias. Por um breve instante, esqueceu-se do tato. – Por que não? – perguntou. – Por motivos médicos. – Ah. Ficou óbvio que Anya teria gostado de saber mais. Dimka já havia reparado que muitas mulheres se interessavam por detalhes médicos. Mas Nina parou por aí, como sempre acontecia em relação àquele assunto. Alguém bateu à porta. Dimka suspirou. Já podia adivinhar quem era. Foi abrir. Deparou-se com os avós, que moravam no mesmo prédio. – Ah, Dimka... você está em casa! – exclamou seu avô Grigori Peshkov, fingindo surpresa. Ele estava de uniforme. Tinha quase 74 anos, mas recusava-se a se aposentar. Na opinião de Dimka, velhos que não sabiam a hora de sair de cena eram um grave problema na União Soviética. Sua avó Katerina tinha arrumado os cabelos. – Nós trouxemos caviar – disse ela. Estava óbvio que aquela não era a visita casual que eles queriam fazer parecer que fosse. Os dois tinham ficado sabendo da visita de Nina e foram até lá conferi-la. Exatamente como temia, a moça estava sendo inspecionada pela família. Dimka fez as apresentações. Katerina deu um beijo em Nina e Grigori segurou a mão dela por um tempo maior do que o necessário. Para seu alívio, Nina continuou se mostrando encantadora e chamou seu avô de “camarada general”. Percebendo na hora que ele era suscetível ao charme de moças bonitas, começou a flertar, para deleite do velho, ao mesmo tempo que lançava para Katerina um olhar que dizia Nós duas sabemos como são os homens. Grigori lhe perguntou sobre seu trabalho. Nina lhe contou que fora promovida recentemente: agora era gerente editorial e organizava a impressão das várias publicações internas do sindicato. Já Katerina lhe fez perguntas sobre a família, e ela respondeu que não os via muito, já que todos ainda moravam em Perm, sua cidade natal, 24 horas de trem a leste de Moscou. Nina logo conseguiu fazer Grigori falar sobre seu assunto preferido: os deslizes históricos
do filme Outubro, de Eisenstein, sobretudo nas cenas que retratavam a tomada do Palácio de Inverno, da qual ele havia participado. Dimka ficou feliz por todos estarem se dando tão bem, mas ao mesmo tempo teve a desconfortável sensação de não estar no controle do que acontecia ali. Era como se estivesse em um navio, singrando águas tranquilas rumo a um destino desconhecido: por enquanto estava tudo bem, mas o que haveria adiante? O telefone tocou e ele atendeu. Sempre atendia à noite, pois em geral era o Kremlin querendo falar com ele. Ouviu a voz de Natalya Smotrov dizer: – Acabei de ter notícias da estação da KGB em Washington. Falar com ela enquanto Nina estava no mesmo recinto o deixou pouco à vontade. Disse a si mesmo que deixasse de ser idiota: nunca havia tocado em Natalya. No entanto, tinha pensado nisso. Mas um homem não precisava sentir culpa pelos próprios pensamentos, precisava? – O que houve? – indagou. – Kennedy marcou um pronunciamento à população americana pela TV para hoje à noite. Como sempre, ela era a primeira a saber das notícias quentes. – Por quê? – Eles não sabem. Na hora, Dimka pensou em Cuba. A maioria dos mísseis já estava lá, com as ogivas nucleares correspondentes. Toneladas de equipamento auxiliar e milhares de soldados também já tinham chegado. Em poucos dias, os armamentos estariam prontos para serem lançados. A missão estava quase terminada. No entanto, ainda faltavam quinze dias para as eleições legislativas nos Estados Unidos. Dimka andava pensando em pegar um avião até Cuba – havia um voo regular entre Praga e Havana – para garantir que não houvesse nenhum vazamento por mais algum tempo. Era fundamental que o segredo fosse mantido só mais um pouco. Rezou para que a aparição surpresa de Kennedy na TV fosse sobre algum outro assunto, talvez Berlim ou o Vietnã. – A que horas vai ser? – perguntou a Natalya. – Sete da noite, horário da Costa Leste dos Estados Unidos. Ou seja, duas da manhã em Moscou. – Vou ligar para ele agora mesmo – falou. – Obrigado. Desligou, e logo em seguida discou o número da casa de Kruschev. Quem atendeu foi Ivan Tepper, chefe da equipe de funcionários da casa, o equivalente de um mordomo. – Boa noite, Ivan – cumprimentou Dimka. – Ele está? – Está indo se deitar – respondeu Ivan. – Diga a ele para vestir as calças de novo. Kennedy vai falar na televisão às duas da manhã daqui. – Um instante, ele chegou.
Dimka ouviu um diálogo abafado, e então a voz de Kruschev: – Eles acharam nossos mísseis! Dimka sentiu um aperto no peito. A intuição espontânea do premiê em geral estava certa. O segredo tinha vazado e quem levaria a culpa era ele. – Boa noite, camarada primeiro-secretário – falou, e as quatro pessoas que estavam na sala com ele se calaram. – Ainda não sabemos qual vai ser o assunto do pronunciamento. – São os mísseis, com certeza. Convoque uma reunião de emergência do Presidium. – Para que horas? – Daqui a uma hora. – Está bem. Kruschev desligou. Dimka ligou para a casa de sua secretária. – Oi, Vera. Um Presidium de emergência, hoje às dez da noite. Ele está a caminho do Kremlin. – Vou começar a convocar as pessoas – disse ela. – Está com os telefones em casa? – Estou. – É claro! Obrigado. Chego ao escritório em alguns minutos. – Ele desligou. Todos o encaravam. Tinham-no ouvido dizer Boa noite, camarada primeiro-secretário. Grigori exibia um ar de orgulho, Katerina e Anya pareciam preocupadas, e Nina tinha nos olhos um brilho de empolgação. – Preciso ir trabalhar – falou, embora não fosse necessário. – Qual é a emergência? – quis saber Grigori. – Ainda não sabemos. Seu avô lhe deu uns tapinhas no ombro e assumiu uma expressão emocionada. – Com homens como você e meu filho Volodya no comando, sei que a revolução está segura. Dimka sentiu-se tentado a dizer que não tinha tanta certeza, mas em vez disso falou: – Avô, pode pedir um carro do Exército para levar Nina em casa? – Claro. – Lamento interromper o encontro... – Não se preocupe – falou seu avô. – O seu trabalho é mais importante. Vá, ande logo. Dimka vestiu o sobretudo, deu um beijo em Nina e saiu. Enquanto descia no elevador, pensou agoniado se, apesar de todos os seus esforços, teria de alguma forma deixado escapar o segredo dos mísseis cubanos. Havia comandado a operação toda com a mais estrita segurança e sua eficiência tinha sido brutal. Mostrara-se um verdadeiro tirano, punira os erros com severidade, humilhara os tolos e arruinara as carreiras daqueles que não conseguiram cumprir meticulosamente as suas ordens. O que mais poderia ter feito?
Na rua, estava havendo um ensaio noturno para o desfile militar marcado para o Dia da Revolução, dali a duas semanas. Uma fila interminável de tanques, peças de artilharia e soldados avançava ruidosamente pela margem oblíqua do rio Moscou. Nada disso vai nos adiantar se houver uma guerra nuclear, pensou ele. Os americanos não sabiam, mas a URSS tinha poucas armas nucleares, nem de longe a mesma quantidade que os Estados Unidos. Os soviéticos podiam ferir os americanos, sim, mas os americanos podiam riscar a União Soviética do mapa. Como a rua estava interditada para o desfile e o Kremlin ficava a pouco mais de um quilômetro, Dimka deixou a moto em casa e foi a pé. O Kremlin era uma fortaleza triangular, situada na margem norte do rio, que abrigava diversos palácios agora convertidos em prédios do governo. Dimka foi até o Senado, prédio amarelo de colunas brancas, e subiu de elevador ao segundo andar. Foi seguindo um tapete vermelho por um corredor de pé-direito alto até a sala de Kruschev, mas o primeirosecretário ainda não tinha chegado. Então avançou mais duas portas até a sala do Presidium. Felizmente, estava tudo limpo e arrumado. O Presidium do Comitê Central do Partido Comunista era, na prática, o órgão responsável pelo governo da URSS, presidido por Kruschev. Era ali que ficava o núcleo do poder. O que o premiê faria? Dimka foi o primeiro a chegar, mas outros membros do Presidium não demoraram a aparecer com seus assessores. Ninguém sabia o que Kennedy pretendia. Yevgeny Filipov chegou com seu chefe, o ministro da Defesa Rodion Malinovski. – Que cagada – disse Filipov, mal conseguindo conter a euforia. Dimka o ignorou. Natalya entrou acompanhando o ministro das Relações Exteriores Andrei Gromyko, homem elegante de cabelos negros. Ela decidira que a hora tardia permitia trajes mais casuais, e estava bonita com uma calça jeans em estilo americano e um suéter de lã folgado com uma volumosa gola enrolada. – Obrigado por me avisar antes – murmurou-lhe Dimka. – Estou muito grato, mesmo. Ela tocou seu braço. – Eu estou do seu lado. Você sabe disso. Kruschev chegou e abriu a reunião dizendo: – Acho que o pronunciamento de Kennedy vai ser sobre Cuba. Dimka sentou-se junto à parede atrás do premiê, pronto para sair e tomar qualquer providência. O líder poderia precisar de uma pasta, um jornal ou relatório, ou então querer um chá, uma cerveja ou um sanduíche. Dois outros assessores de Kruschev estavam sentados ao seu lado. Nenhum deles conhecia a resposta para as grandes perguntas: os americanos tinham encontrado os mísseis? Em caso positivo, quem havia deixado o segredo vazar? O futuro do mundo estava por um triz, mas Dimka estava igualmente preocupado com o próprio futuro, o que lhe causava certa vergonha.
A impaciência era enlouquecedora. Faltavam quatro horas para o pronunciamento de Kennedy. Será que o Presidium não conseguiria descobrir o conteúdo de seu discurso antes disso? Para que servia a KGB? Com seus traços regulares e fartos cabelos grisalhos, o ministro da Defesa Malinovski parecia um astro do cinema veterano. Segundo ele, os Estados Unidos não estavam prestes a invadir Cuba. A Inteligência do Exército Vermelho tinha agentes na Flórida. Havia alguns soldados reunidos lá, mas, em sua opinião, nem de longe era o suficiente para uma invasão. – Isso é algum tipo de truque de campanha eleitoral – falou. Dimka pensou que ele soava excessivamente confiante. Kruschev também demonstrou ceticismo. Talvez Kennedy não quisesse mesmo uma guerra com Cuba, mas será que ele tinha liberdade para agir como quisesse? O premiê acreditava que o presidente americano vivesse, pelo menos em parte, sob o controle do Pentágono e de capitalistas-imperialistas como a família Rockefeller. – Precisamos de um plano de contingência para o caso de os americanos de fato invadirem – falou. – Nossas tropas têm de estar preparadas para essa eventualidade. – Ele ordenou um intervalo de dez minutos para os membros do comitê considerarem as alternativas. Dimka ficou horrorizado com a rapidez com a qual o Presidium começara a falar em guerra. O plano nunca tinha sido aquele! Quando Kruschev decidira mandar mísseis para Cuba, sua intenção não era provocar um confronto. Como chegamos a esse ponto?, perguntouse, desesperado. Viu Filipov deliberando com Malinovski e vários outros em um grupinho intimidador. O assessor do ministro da Defesa anotou algo em um papel. Quando todos voltaram à mesa, Malinovski leu o rascunho de uma ordem para o comandante soviético em Cuba, general Issa Pliyev, autorizando-o a usar “todos os meios disponíveis” para defender a ilha. Dimka quis perguntar: Vocês ficaram malucos? Kruschev pensava a mesma coisa. – Isso significa dar autorização a Pliyev para começar uma guerra nuclear! – falou, zangado. Para alívio de Dimka, Anastas Mikoyan apoiou o premiê. Sempre contemporizador, Mikoyan parecia um advogado de província, com seu bigode bem aparado e seus cabelos ralos, mas era ele quem conseguia convencer Kruschev a desistir de seus planos mais temerários. Ele se opôs a Malinovski. Por ter visitado Cuba pouco depois da revolução, sabia muito bem do que estava falando. – E se déssemos o controle dos mísseis a Fidel? – propôs Kruschev. Dimka já ouvira seu chefe dizer coisas loucas, sobretudo durante conversas hipotéticas, mas aquilo era uma irresponsabilidade mesmo para os seus padrões. O que ele estava pensando? – Se me permite, recomendo que não façamos isso – disse Mikoyan, calmo. – Os americanos sabem que não queremos uma guerra nuclear e, se nós controlarmos as armas, vão
tentar resolver o problema pela diplomacia. Mas eles não vão confiar em Fidel Castro. Se souberem que é o dedo dele que está no gatilho, talvez tentem destruir todos os mísseis em Cuba com um primeiro ataque aéreo avassalador. Kruschev aceitou o argumento, mas não estava preparado para desistir por completo das armas nucleares. – Nesse caso, os americanos poderiam retomar Cuba! – falou, indignado. Alexei Kosygin então interveio. Embora dez anos mais novo do que Kruschev, era seu aliado mais próximo. A calvície avançada havia deixado no topo de sua cabeça um topete grisalho que parecia a proa de um navio. Apesar de seu rosto vermelho de beberrão, Dimka o considerava o homem mais inteligente do Kremlin. – Não deveríamos estar pensando em quando usar armas nucleares – disse ele. – Se chegarmos a esse ponto, teremos fracassado miseravelmente. A questão a ser debatida é: que atitudes podemos tomar para garantir que a situação não se deteriore e vire um conflito nuclear? – Graças a Deus, pensou Dimka. Enfim alguém diz uma coisa sensata. – Proponho que o general Pliyev seja autorizado a defender Cuba por todos os meios menos o uso de armas nucleares. Malinovski expressou dúvidas, pois temia que a inteligência americana desse um jeito de descobrir essa ordem. No entanto, apesar das reservas do ministro da Defesa, a proposta foi aprovada e a mensagem, enviada. A ameaça de um holocausto nuclear ainda pairava, mas pelo menos o Presidium estava concentrando seus esforços em evitar uma guerra, e não em travá-la. Logo depois, Vera Pletner espichou a cabeça para dentro da sala e fez um gesto chamando Dimka. Ele saiu discretamente. No largo corredor, a secretária lhe entregou três folhas de papel. – O pronunciamento de Kennedy – falou, em voz baixa. – Graças a Deus! – Ele conferiu o relógio: era 1h15 da manhã; faltavam 45 minutos para o presidente ir ao ar. – Como conseguimos isso? – O governo americano teve a gentileza de entregar uma cópia antecipada à nossa embaixada em Washington, e o Ministério das Relações Exteriores rapidamente a traduziu. Em pé no corredor, acompanhado apenas por Vera, Dimka leu depressa. “Como prometido, este governo vigiou de perto a movimentação militar soviética na ilha de Cuba.” Kennedy falava em ilha, reparou Dimka, como se Cuba não fosse um país de verdade. “Na última semana, indícios inconfundíveis demonstraram que uma série de bases para mísseis ofensivos está agora sendo montada naquela ilha aprisionada.” Indícios?, pensou Dimka. Que indícios? “A finalidade dessas bases não pode ser outra senão proporcionar uma capacidade de ataque nuclear contra o hemisfério ocidental.” Dimka seguiu lendo, mas, para sua irritação, Kennedy não dizia como tinha obtido a informação, se de traidores ou espiões, na URSS ou em Cuba mesmo, ou então por algum outro expediente. Ainda não sabia se aquela crise era culpa sua.
O discurso de Kennedy dava muita importância ao sigilo dos soviéticos, que tachava de engodo. Era justo, pensou Dimka: em uma situação inversa, Kruschev teria feito a mesma acusação. Mas o que o presidente americano iria fazer? Dimka foi pulando trechos até chegar à parte importante. “Primeiro, para deter essa escalada ofensiva, estamos implementando uma rígida quarentena de todo o material militar ofensivo transportado para Cuba.” Ah, pensou ele: um bloqueio naval. Isso contrariava as leis internacionais, motivo pelo qual Kennedy usava a palavra quarentena, como se estivesse combatendo alguma espécie de epidemia. “Caso se descubra que carregam armas ofensivas, embarcações de qualquer tipo com destino a Cuba, de qualquer porto ou nação, terão de dar meia-volta.” Dimka viu na hora que aquilo era apenas um começo. A quarentena não faria diferença: a maior parte dos mísseis estava instalada e praticamente pronta para ser lançada e, se as suas informações fossem tão boas quanto pareciam, Kennedy já devia saber disso. O bloqueio naval era apenas simbólico. O discurso continha também uma ameaça: “A política deste país será considerar qualquer míssil nuclear disparado de Cuba contra qualquer nação do hemisfério ocidental um ataque da União Soviética contra os Estados Unidos, que exigirá uma reação retaliatória integral contra a União Soviética.” Dimka sentiu um frio pesado na barriga. Aquilo era uma ameaça terrível. Kennedy não se daria ao trabalho de saber se os mísseis tinham sido disparados pelos cubanos ou pelo Exército Vermelho; para ele, não fazia diferença. Tampouco se importaria em saber qual era o alvo. Se eles bombardeassem o Chile, seria o mesmo que bombardear Nova York. Assim que uma de suas armas nucleares fosse disparada, os Estados Unidos transformariam a União Soviética em um deserto radioativo. Dimka visualizou a imagem de todos os seus conhecidos e da nuvem em forma de cogumelo de uma explosão nuclear, e na sua imaginação esta se ergueu sobre o centro de Moscou, acima das ruínas do Kremlin, de sua casa e de todos os prédios que ele conhecia, enquanto cadáveres calcinados boiavam feito uma tenebrosa espuma nas águas envenenadas do rio Moscou. Outra frase chamou sua atenção: “É difícil solucionar ou mesmo debater esses problemas em uma atmosfera de intimidação.” A hipocrisia dos americanos o deixou sem ar. O que era a Operação Mangusto senão intimidação? Fora a Mangusto que convencera o relutante Presidium a mandar mísseis para Cuba. Dimka estava começando a desconfiar que, em política internacional, a agressão era um tiro que costumava sair pela culatra. Já tinha lido o suficiente. Voltou para a sala do Presidium, andou rapidamente até Kruschev e lhe entregou o maço de papéis. – O discurso que Kennedy vai dar na TV – falou, em voz alta o bastante para todos
ouvirem. – Uma cópia antecipada fornecida pelos Estados Unidos. Kruschev arrancou os papéis de sua mão e começou a ler. O recinto caiu em silêncio. Não adiantava dizer nada até todos saberem o que continha o documento. O premiê leu com toda a calma o texto formal, abstrato. De vez em quando, dava um muxoxo de desdém ou um grunhido de surpresa. Conforme ele ia lendo, Dimka sentiu sua ansiedade se transformar em alívio. Depois de vários minutos, Kruschev pousou sobre a mesa a última página. Por fim, ergueu os olhos. Um sorriso se abriu em seu rosto gordo de camponês enquanto olhava para os colegas reunidos em volta da mesa. – Camaradas – falou. – Nós salvamos Cuba!
Como era seu costume, Jacky interrogou George sobre sua vida amorosa: – Você está namorando? – Acabei de terminar com Norine. – Acabou? Já faz seis meses. – Ah, é... Acho que faz mesmo. Sua mãe tinha preparado frango frito com quiabo e os bolinhos de fubá que chamava de hush puppies, a comida favorita de George quando criança. Agora, aos 27 anos, ele preferia carne malpassada com salada ou massa ao molho de mariscos. Além disso, geralmente jantava às oito da noite, não às seis da tarde. No entanto, começou a comer sem lhe dizer nada disso; preferia não estragar o prazer que a mãe sentia ao alimentá-lo. Como sempre, Jacky estava sentada em frente ao filho à mesa da cozinha. – E como vai a simpática Maria Summers? George tentou reprimir uma careta. Tinha perdido Maria para outro homem. – Está namorando firme – respondeu. – Ah, é? Quem? – Não sei. Jacky grunhiu de frustração. – Não perguntou? – Claro que perguntei. Ela não quis dizer. – Por quê? George deu de ombros. – É um homem casado – afirmou Jacky, segura. – Mãe, você não tem como saber isso – retrucou George, mas teve a terrível suspeita de que ela poderia estar certa. – Em geral, as moças se gabam do homem com quem estão saindo. Quando ficam caladas, é porque estão com vergonha.
– Pode ser que haja outro motivo. – Qual, por exemplo? Na hora, ele não conseguiu pensar em nenhum. – Deve ser alguém do trabalho. Tomara que seu pai pastor não descubra. George pensou em outra possibilidade. – Talvez ele seja branco. – Casado e branco, aposto. Como é o assessor de imprensa, aquele tal Pierre Salinger? – Um cara educado, de 30 e poucos anos, meio acima do peso, que usa sempre roupas francesas de boa qualidade. Ele é casado e ouvi dizer que anda aprontando com a secretária, então não tenho certeza se tem tempo para outra namorada. – Pode ser que tenha, afinal ele é francês. George sorriu com ironia. – Você já conheceu algum francês? – Não, mas eles têm fama. – E os negros têm fama de preguiçosos. – Tem razão, eu não deveria falar assim. Cada um é de um jeito. – Foi o que você sempre me ensinou. George não estava prestando muita atenção na conversa. A notícia sobre os mísseis de Cuba fora mantida em segredo da população americana por uma semana, mas estava prestes a ser revelada. A semana tinha sido cheia de acalorados debates no pequeno grupo dos que sabiam, mas pouca coisa fora resolvida. Em retrospecto, George percebeu que, na primeira vez em que tinha escutado a notícia, não lhe dera a devida importância. Pensara, sobretudo, nas legislativas iminentes e no efeito sobre a campanha dos direitos civis. Por alguns instantes, chegara a saborear a ideia de uma retaliação americana. Só depois havia percebido a verdade: que os direitos civis não teriam mais importância e nenhuma outra eleição jamais iria acontecer se houvesse uma guerra nuclear. Jacky mudou de assunto: – O chefe de cozinha do clube onde eu trabalho tem uma filha linda. – É mesmo? – Cindy Bell. – Cindy é apelido de quê? Cinderela? – De Lucinda. Ela se formou este ano na Universidade de Georgetown. Georgetown era um bairro da capital, mas raros eram os membros da maioria negra da cidade que estudavam nessa prestigiosa universidade. – Ela é branca? – Não. – Então deve ser inteligente. – Muito. – É católica? – A Universidade de Georgetown era uma instituição jesuíta.
– Não há nada de errado em ser católico – disse Jacky em tom levemente desafiador. Apesar de frequentar a Igreja Evangélica Betel, era tolerante. – Católicos também acreditam em Deus. – Mas não em controle da natalidade. – Não sei se eu mesma acredito. – Como assim? Você não pode estar falando sério. – Se eu tivesse usado anticoncepcionais, não teria tido você. – Mas não pode querer negar às outras mulheres o direito de decidir! – Ah, deixe de ser tão combativo. Eu não quero proibir os anticoncepcionais. – Jacky abriu um sorriso afetuoso. – Só fico feliz por ter sido tão ignorante e descuidada aos 16 anos. Vou fazer um café – falou, levantando-se. A campainha tocou. – Pode ver quem é? George abriu a porta e deparou com uma moça negra bonita de 20 e poucos anos, vestida com uma calça Capri justa e um suéter folgado. Ela se espantou ao vê-lo. – Ué, desculpe. Achei que fosse a casa da Sra. Jakes. – E é. Estou de visita. – Meu pai me pediu para deixar isto aqui quando passasse. – Ela lhe entregou um livro chamado A nave dos loucos. Ele já tinha ouvido falar; era um sucesso de vendas. – Acho que papai pegou emprestado com a Sra. Jakes. – Obrigado – disse George, pegando o livro. – Quer entrar? – convidou, educado. A moça hesitou. Jacky apareceu na porta da cozinha. Como a casa não era muito grande, pôde ver dali quem estava lá fora. – Oi, Cindy. Eu estava falando de você agora mesmo. Entre, acabei de passar um café. – Está mesmo com um cheiro ótimo – respondeu Cindy, cruzando a soleira. – Mãe, podemos tomar café na sala? – pediu George. – Está quase na hora de o presidente falar. – Você não quer assistir à TV, quer? Sente-se e converse com Cindy. George abriu a porta da sala. – Você se importaria de assistir ao presidente? – perguntou à moça. – Ele vai dizer uma coisa importante. – Como você sabe? – Ajudei a escrever o discurso. – Nesse caso, tenho que assistir – disse ela. Eles entraram na sala. Lev Peshkov, seu avô, tinha comprado e mobiliado aquela casa para Jacky e George em 1949. Depois disso, ela havia orgulhosamente recusado qualquer outra ajuda a não ser os custos da escola e da universidade do filho. Com seu salário modesto, não sobrava dinheiro para redecorar, de modo que, em treze anos, a sala praticamente não mudara. George gostava dela do jeito que era: estofados franjados, um tapete oriental, um louceiro. Antiquada, mas aconchegante.
A principal inovação era o televisor RCA Victor. George ligou o aparelho, e eles aguardaram a tela verde esquentar. – Sua mãe trabalha no Clube Feminino Universitário com meu pai, não é? – Isso. – Então ele não precisava que eu viesse entregar o livro. Poderia ter devolvido a ela amanhã no trabalho. – É. – Armaram para cima da gente. – Eu sei. Ela riu. – Ah, e daí? George gostou dela por isso. Jacky trouxe uma bandeja. Quando terminou de servir o café, o presidente Kennedy já tinha aparecido na tela em preto e branco e dito: “Boa noite, cidadãs e cidadãos.” Estava sentado diante de uma mesa, e na sua frente havia um pequeno púlpito com dois microfones. Usava um terno escuro, camisa branca e gravata fininha. George sabia que as marcas da terrível tensão em seu rosto tinham sido disfarçadas pela maquiagem da TV. Quando Kennedy falou que Cuba agora tinha “capacidade de conduzir um ataque nuclear contra o hemisfério ocidental”, Jacky deu um arquejo e Cindy exclamou: – Ai, meu Deus do céu! Com seu sotaque de Boston, Kennedy foi lendo as páginas sobre o púlpito; sua pronúncia o fazia engolir algumas das letras. O tom era neutro, quase entediado, mas as palavras eram eletrizantes. “Qualquer um desses mísseis, em suma, tem capacidade para atingir a capital Washington...” Jacky soltou um gritinho. “... o Canal do Panamá, o Cabo Canaveral, a Cidade do México...” – O que vamos fazer? – indagou Cindy. – Esperem – disse George. – Vocês vão ver. – Como isso foi acontecer? – perguntou Jacky. – Os soviéticos são dissimulados – respondeu ele. “Não temos desejo algum de dominar ou conquistar qualquer outra nação, nem de impor nosso sistema de governo à sua população”, afirmou Kennedy. A essa altura, Jacky normalmente teria feito algum comentário sarcástico sobre a invasão da Baía dos Porcos, mas agora não estava mais ligando para picuinhas políticas. A câmera se aproximou para um close enquanto o presidente dizia: “Para deter essa escalada ofensiva, será implementada uma rígida quarentena de todo o material militar ofensivo transportado para Cuba.” – De que adianta isso? – indagou Jacky. – Os mísseis já estão lá... ele acabou de dizer! De modo lento e pausado, o presidente prosseguiu: “A política deste país será considerar
qualquer míssil nuclear disparado de Cuba contra qualquer nação do hemisfério ocidental um ataque da União Soviética contra os Estados Unidos, que exigirá uma reação retaliatória contra a União Soviética.” – Ai, meu Deus do céu! – repetiu Cindy. – Quer dizer que, se Cuba disparar um único míssil, vai ser uma guerra nuclear. – Isso mesmo – disse George, que havia participado das reuniões nas quais essa decisão fora discutida. Assim que o presidente disse “Obrigado e boa noite”, Jacky desligou a TV e se virou para o filho. – O que vai acontecer conosco? Ele queria muito reconfortá-la, fazê-la se sentir segura, mas não podia. – Não sei, mãe. – Até eu consigo ver que essa quarentena não faz a menor diferença – disse Cindy. – É só uma preliminar. – E qual é o próximo passo? – Não sabemos. – George, me diga a verdade. Vai haver uma guerra? – perguntou Jacky. Ele hesitou. Armas nucleares estavam sendo carregadas em jatos e espalhadas pelo país para garantir que pelo menos algumas sobrevivessem a um primeiro ataque soviético. O plano de invasão de Cuba estava sendo esmiuçado, e o Departamento de Estado já selecionava candidatos para liderar o governo pró-Estados Unidos que assumiria posteriormente o comando de Cuba. O Comando Aéreo Estratégico tinha aumentado seu status para DEFCON3, Condição de Defesa 3, o que possibilitava iniciar um ataque nuclear em quinze minutos. Pesando todos os fatores, qual seria o desfecho mais provável daquilo tudo? Foi com um peso no coração que George respondeu: – Sim, mãe. Eu acho que vai haver guerra.
No fim das contas, o Presidium ordenou a todos os navios que estivessem transportando mísseis soviéticos para Cuba que dessem meia-volta e retornassem à União Soviética. Kruschev avaliou que perderia pouca coisa com essa manobra, e Dimka concordava. Cuba agora tinha armas nucleares; pouco importava quantas fossem. A União Soviética evitaria um confronto em alto-mar, alegaria estar tentando contornar a crise, e mesmo assim continuaria tendo uma base nuclear a 150 quilômetros dos Estados Unidos. Todos sabiam que a história não terminaria ali. As duas superpotências ainda não tinham abordado a verdadeira questão: o que fazer com as armas nucleares que já estavam em Cuba. Todas as alternativas continuavam disponíveis para Kennedy e, até onde Dimka podia constatar, a maioria delas conduzia à guerra.
Kruschev decidiu não ir para casa nessa noite. Era perigoso demais estar longe, nem que fosse a poucos minutos de carro: se uma guerra estourasse, ele precisava estar ali, pronto para tomar decisões em questão de segundos. Ao lado de sua sala elegante havia um pequeno cômodo com um sofá confortável. Foi lá que o premiê se deitou, ainda de roupa. A maioria dos integrantes do Presidium tomou a mesma decisão, e os líderes do segundo país mais poderoso do mundo se acomodaram para um sono agitado em suas respectivas salas. Mais adiante no corredor, Dimka tinha um pequeno cubículo no qual não havia sofá, apenas uma cadeira dura, uma escrivaninha funcional e um arquivo. Estava tentando entender onde seria o lugar menos desconfortável para repousar a cabeça quando alguém bateu na porta e Natalya entrou, trazendo um aroma leve diferente de qualquer perfume soviético. Ele percebeu que ela fizera bem ao escolher trajes casuais, pois todos teriam que dormir de roupa. – Gostei do seu suéter – comentou. – É um Sloppy Joe – disse ela, usando o termo em inglês. – O que isso quer dizer? – Não sei, mas gosto da sonoridade. Ele riu. – Estava aqui tentando decidir onde dormir. – Eu também. – Pensando bem, não tenho certeza de que vou conseguir dormir. – Sabendo que pode nunca mais acordar, você quer dizer? – Exatamente. – Estou sentindo a mesma coisa. Ele pensou por alguns segundos. Mesmo que passasse a noite em claro, angustiado, seria bom achar um lugar onde pudesse ficar confortável. – Isto aqui é um palácio e está vazio – falou. Hesitou antes de prosseguir: – Quer explorar por aí? Não soube muito bem por que disse isso. Era o tipo de coisa que Valentin, seu amigo mulherengo, talvez dissesse. – Tudo bem – respondeu Natalya. Dimka pegou o sobretudo para usar como coberta. Os espaçosos quartos e saletas do palácio tinham sido divididos de maneira deselegante em salas para burocratas e datilógrafas, e equipados com mobília barata feita de pinho e plástico. Algumas das salas maiores tinham poltronas estofadas para os funcionários mais importantes, mas nada em que se pudesse dormir. Dimka começou a pensar em jeitos de fazer uma cama no chão. Então, bem no final da ala, os dois passaram por um corredor abarrotado de baldes e esfregões e chegaram a um salão cheio de mobília guardada. Não havia calefação, e seu hálito se condensou em um vapor branco. As janelas grandes
estavam cobertas por uma camada de gelo. As arandelas e os lustres folheados a ouro tinham suportes para velas, todos vazios. Uma luz débil provinha de duas lâmpadas nuas penduradas no teto decorado com pinturas. Os móveis empilhados pareciam estar ali desde a época da Revolução. Havia mesas lascadas de pés finos, cadeiras com estofado de brocado puído e estantes vazias de madeira esculpida: os tesouros dos czares transformados em quinquilharia. A mobília apodrecia naquele salão porque era ancien régime demais para ser usada nas salas dos comissários, embora Dimka avaliasse que deviam ser peças capazes de render fortunas nos leilões de antiguidades do Ocidente. E havia uma cama de baldaquino. As cortinas estavam todas empoeiradas, mas a colcha azul desbotada parecia intacta, e havia até um colchão e travesseiros. – Bem, uma cama nós temos – comentou Dimka. – Talvez precisamos dividir – rebateu Natalya. A ideia havia lhe passado pela cabeça, mas ele a descartara. Em suas fantasias, moças bonitas sugeriam dividir a cama com ele, mas nunca acontecia na vida real. Até agora. Mas será que ele queria? Não estava casado com Nina, mas sem dúvida ela esperava que ele lhe fosse fiel, e ele certamente esperava o mesmo dela. Por outro lado, Nina não estava ali, e Natalya, sim. Feito um bobo, perguntou: – Está sugerindo dormirmos juntos? – Só por causa do frio. Posso confiar em você, não posso? – Claro. – Então estava tudo bem, supôs. Natalya retirou a colcha velha, levantando tanta poeira que a fez espirrar. Os lençóis da cama haviam amarelado com o tempo, mas pareciam intactos. – Traças não gostam de algodão – comentou ela. – Essa eu não sabia. Ela tirou os sapatos. De calça jeans e suéter, entrou debaixo dos lençóis e estremeceu. – Venha. Deixe de ser tímido. Dimka a cobriu com o sobretudo, então desamarrou os cadarços e tirou os sapatos. Aquilo era estranho, porém empolgante. Natalya queria dormir com ele, só que sem transar. Nina jamais acreditaria. Mas ele precisava dormir em algum lugar. Tirou a gravata e entrou na cama. Os lençóis estavam gelados. Envolveu Natalya com os dois braços. Ela pousou a cabeça sobre seu ombro e pressionou o corpo contra o seu. Seu volumoso suéter e o terno que ele usava não lhe permitiram sentir os contornos de seu corpo, mas mesmo assim ele ficou excitado. Se ela sentiu, não teve reação alguma. Em poucos minutos, os dois pararam de tremer e se sentiram mais aquecidos. Dimka tinha
o rosto enterrado nos cabelos de Natalya, fartos e ondulados, que recendiam a sabonete de limão. Suas mãos a tocavam nas costas, mas ele não conseguia sentir a textura da pele através do suéter grosso. Sentia seu hálito no pescoço. O ritmo da respiração dela se modificou, tornando-se regular e raso. Ele beijou o topo de sua cabeça, mas ela não reagiu. Não conseguia entendê-la. Era apenas uma assessora igual a ele e só uns três ou quatro anos mais velha, mas dirigia um Mercedes dos anos 1950 lindamente preservado. Em geral usava as roupas desenxabidas típicas do Kremlin, mas seu perfume era caro e importado. Sua simpatia com ele beirava o flerte, mas depois ela voltava para casa e fazia o jantar do marido. Havia dado um jeito de fazer Dimka se deitar na cama com ela, mas depois pegara no sono. Ele teve certeza de que não conseguiria dormir, ali deitado abraçado a uma moça quentinha. Mas conseguiu. Quando acordou, ainda estava escuro lá fora. – Que horas são? – balbuciou Natalya. Os dois continuavam abraçados. Ele esticou o pescoço para olhar o relógio atrás do ombro esquerdo dela. – Seis e meia. – E continuamos vivos. – Os americanos não nos bombardearam. – Ainda não. – É melhor nos levantarmos – disse Dimka, mas se arrependeu na mesma hora. Kruschev ainda não devia estar acordado. Mesmo que estivesse, Dimka não precisava encerrar prematuramente aquele momento delicioso. Estava confuso, mas feliz. Por que fora sugerir que se levantassem? Mas ela não quis. – Só mais um minutinho – falou. Agradou-lhe pensar que ela gostava de ficar deitada nos seus braços. Ela então lhe deu um beijo no pescoço. Foi o toque mais leve possível dos lábios na pele, como se uma traça tivesse voado das antigas cortinas e roçado as asas ali; mas ele não esperava por isso. Ela o havia beijado. Ele acariciou seus cabelos. Natalya inclinou a cabeça para trás e o encarou com a boca entreaberta, os lábios carnudos um pouco separados e um leve sorriso, como diante de uma agradável surpresa. Dimka não era nenhum especialista em mulheres, mas nem mesmo ele podia confundir um convite daqueles. Mesmo assim, hesitou em beijá-la. Mas ela falou: – Provavelmente seremos bombardeado hoje, até virarmos pó. Então Dimka a beijou.
O beijo pegou fogo em segundos. Ela mordeu seus lábios e enfiou a língua em sua boca. Ele a virou de costas e pôs a mão por baixo do suéter largo. Ela abriu o sutiã com um movimento rápido; tinha os seios deliciosamente pequeninos e firmes, com mamilos grandes e pontudos que ele sentiu endurecer ao toque de seus dedos. Quando os chupou, ela arquejou de prazer. Dimka tentou tirar sua calça jeans, mas ela teve outra ideia. Empurrou-o de costas e, com gestos febris, abriu sua braguilha. Ele teve medo de gozar na hora – coisa que, segundo Nina, ocorria com muitos homens –, mas isso não aconteceu. Natalya tirou seu pau da cueca, acariciou-o com as duas mãos, passou-o pelo rosto e o beijou. Em seguida o pôs na boca. Quando ele sentiu que ia explodir, empurrou a cabeça dela para longe e tentou se afastar; Nina preferia assim. Mas Natalya emitiu um ruído de protesto e começou a esfregar e chupar com mais força ainda, até ele se descontrolar e gozar em sua boca. Pouco depois, ela lhe deu um beijo. Ele sentiu o gosto do próprio sêmen. Será que aquilo era estranho? Pareceu-lhe apenas carinhoso. Ela então tirou a calça e a calcinha, e ele entendeu que havia chegado sua vez de lhe dar prazer. Felizmente, Nina lhe ensinara o que fazer. Os pelos de Natalya eram tão encaracolados e abundantes quanto seus cabelos. Ele enterrou o rosto neles, ansioso por retribuir o deleite que ela havia lhe proporcionado. Com as mãos na sua cabeça, ela o guiou, indicando com uma leve pressão quando seus beijos deveriam ser mais suaves ou mais fortes, e movendo os quadris para cima ou para baixo de modo a lhe mostrar onde concentrar sua atenção. Era apenas a segunda mulher em quem ele fazia aquilo, e o sabor e o cheiro dela o embriagaram. Com Nina, aquela prática era só uma preliminar, mas depois de um tempo surpreendentemente curto Natalya gritou, apertou a cabeça dele com força e então, como se o prazer fosse demais para suportar, empurrou-o para longe. Ficaram deitados lado a lado, recuperando o fôlego. Aquela experiência tinha sido totalmente nova para Dimka, e ele comentou, pensativo: – Essa história toda de sexo é mais complicada do que eu pensava. Para sua surpresa, isso fez Natalya rir com vontade. – O que foi que eu disse? – perguntou. Ela riu mais ainda, e tudo o que conseguiu responder foi: – Ah, Dimka, eu adoro você.
La Isabela era uma cidade fantasma, constatou Tanya. Outrora um próspero porto cubano, fora duramente atingida pelo embargo comercial de Eisenhower. Cercada por salinas e manguezais, ficava a muitos quilômetros de qualquer outro lugar. Cabras magras vagavam pelas ruas. O porto ainda abrigava alguns pesqueiros mambembes e o Alexandrovsk, cargueiro
soviético de 5.400 toneladas abarrotado com ogivas nucleares até as amuradas. O destino original do navio era Mariel. Depois de Kennedy anunciar o bloqueio naval, a maioria das embarcações soviéticas tinha dado meia-volta, mas algumas, as que estavam a poucas horas do destino, tinham recebido ordens para ir correndo até o porto cubano mais próximo. Tanya e Paz observaram o navio se aproximar lentamente do cais de concreto debaixo de uma tempestade. As peças de artilharia antiaérea no convés estavam camufladas sob rolos de corda. Ela estava em pânico. Não tinha a menor ideia do que iria acontecer. Nem mesmo todos os esforços de seu irmão tinham conseguido impedir que o segredo vazasse antes das eleições legislativas americanas, e a situação complicada de Dimka era a menor das suas preocupações. Estava claro que o bloqueio naval era apenas um começo. Agora, Kennedy tinha de se mostrar forte. Com Kennedy sendo forte e os cubanos defendendo sua preciosa dignidad, tudo podia acontecer, de uma invasão americana a um holocausto nuclear de proporções mundiais. Tanya e Paz agora estavam mais íntimos. Tinham conversado sobre as respectivas infâncias, famílias e os relacionamentos amorosos. Tocavam-se com frequência, riam muito, mas se refreavam antes de iniciar um romance. Tanya sentia-se tentada, mas resistia. A ideia de transar com um homem só porque ele era bonito lhe parecia errada. Gostava de Paz – apesar da sua dignidad –, mas não o amava. Já tinha beijado homens que não amava, principalmente na universidade, mas não chegara a transar com eles. Tinha ido para a cama com um único homem, e por amor, ou pelo menos foi o que pensou na época. Mas talvez acabasse mesmo dormindo com Paz, nem que fosse para ter alguém que a abraçasse na hora em que as bombas caíssem. O maior dos armazéns do cais estava incendiado. – Como será que isso aconteceu? – perguntou ela, apontando. – A CIA tocou fogo – respondeu Paz. – Houve vários ataques terroristas aqui. Tanya olhou em volta. As construções que margeavam o porto estavam vazias e caindo aos pedaços. A maioria das casas eram barracos de madeira de um andar só. A chuva empoçava nas ruas de terra batida. Os americanos poderiam explodir a cidade inteira sem causar grandes danos ao regime de Fidel. – Por quê? – indagou. Paz deu de ombros. – Como fica na ponta da península, é um alvo fácil. Eles vêm da Flórida de lancha, atracam sem ninguém ver, explodem alguma coisa, matam um ou dois inocentes e voltam para os Estados Unidos. Fucking cowards! – arrematou, em inglês: covardes de merda. Será que todos os governos eram iguais?, perguntou-se Tanya. Os irmãos Kennedy falavam em liberdade e democracia, mas despachavam gangues armadas até o outro lado do estreito para aterrorizar a população cubana. Os comunistas soviéticos falavam em libertar o
proletariado, mas prendiam ou assassinavam quem discordasse deles, e tinham exilado Vasili na Sibéria por protestar. Será que em algum lugar do mundo existia um regime honesto? – Vamos – falou. – Temos muito chão até voltar a Havana e preciso avisar a Dimka que o navio dele chegou bem. – Moscou decidira que o Alexandrovsk estava próximo o suficiente para chegar ao porto, mas Dimka estava ansioso à espera de uma confirmação. Embarcaram no Buick de Paz e saíram da cidade. A estrada era margeada de ambos os lados por altos canaviais. Abutres voavam à caça dos gordos ratos das plantações. Ao longe, a alta chaminé de uma usina de açúcar apontava para o céu feito um míssil. A paisagem chapada do centro de Cuba era entrecortada por ferrovias de um trilho só, construídas para transportar a cana das fazendas até as usinas. Nos trechos não cultivados, a floresta tropical dominava tudo: flamboyants, jacarandás, imensas palmeiras-imperiais, ou ainda arbustos ásperos que o gado pastava. As esguias garças brancas que seguiam o gado eram floreios na paisagem castanha monocromática. Na zona rural de Cuba, o transporte ainda se fazia sobretudo por carroças puxadas a cavalo, mas conforme se aproximaram de Havana a estrada se encheu de caminhões e ônibus militares conduzindo os reservistas para seus quartéis. Fidel tinha posto o país em alerta máximo de combate; Cuba estava em pé de guerra. Quando o Buick de Paz passava em alta velocidade, os homens acenavam e gritavam: Patria o muerte! Cuba sí, yanqui no! Nos arredores da capital, Tanya viu que um novo cartaz havia surgido da noite para o dia e agora cobria todos os muros. Era simples, em preto e branco, e exibia a mão de uma pessoa segurando uma arma e as palavras A LAS ARMAS. Pensou que Fidel realmente entendia de propaganda, ao contrário dos velhos do Kremlin, cujo conceito de slogan era: “Implementem as resoluções do XX Congresso do Partido!” Como havia redigido e cifrado a mensagem mais cedo, agora só precisava completá-la com o horário exato em que o Alexandrovsk havia atracado no porto. Levou a mensagem até a embaixada soviética e entregou-a ao funcionário de comunicações da KGB, que conhecia bem. Dimka ficaria aliviado, mas ela continuava com medo. Seria mesmo uma boa notícia Cuba ter recebido mais um carregamento de armas nucleares? O povo cubano – e a própria Tanya – não estaria mais seguro sem arma nenhuma? – Você tem mais algum compromisso hoje? – perguntou a Paz ao sair da embaixada. – Meu compromisso é fazer a ponte com você. – Mas nesta crise... – Nesta crise, nada é mais importante do que uma comunicação clara com nossos aliados soviéticos. – Então vamos passear juntos no Malecón. Foram até o passeio à beira-mar. Paz estacionou no Hotel Nacional. Soldados posicionavam uma peça de artilharia antiaérea em frente ao famoso hotel. Eles saltaram do carro e puseram-se a percorrer o passeio. Um vento norte encrespava o mar e formava ondas altas, que estouravam contra a mureta de pedra e projetavam no ar
explosões de espuma que molhavam a calçada como se fosse chuva. Era um lugar popular, mas nesse dia estava mais cheio do que o normal e o ambiente não era descontraído. Reunidas em pequenos grupos, as pessoas às vezes conversavam, mas em geral permaneciam caladas. Não paqueravam nem faziam piadas ou desfilavam suas melhores roupas. Todas olhavam na mesma direção: para o norte, para os Estados Unidos. Atentas à chegada dos yanquis. Tanya e Paz se demoraram alguns instantes observando os outros. No fundo de seu coração, ela sentia que a invasão era inevitável. Destróieres chegariam rasgando as ondas, submarinos viriam à tona a poucos metros da costa, e os aviões cinza pintados com estrelas azuis e brancas surgiriam das nuvens, carregados com bombas para lançar sobre a população de Cuba e seus amigos soviéticos. Por fim, Tanya segurou a mão de Paz. Ele a apertou delicadamente. Ela ergueu o rosto e encarou seus profundos olhos castanhos. – Eu acho que nós vamos morrer – falou, calma. – É – concordou ele. – Quer ir para a cama comigo antes? – Quero. – Vamos para o meu apartamento? – Vamos. Voltaram para o carro e foram até uma rua estreita na parte antiga da cidade, próxima da catedral, onde ela ocupava o andar de cima de um prédio colonial. O primeiro e único amante de Tanya chamava-se Petr Iloyan, um professor da sua universidade. Ele venerava seu corpo jovem, admirava seus seios, tocava sua pele e beijava seus cabelos como se nunca tivesse visto nada tão maravilhoso. Embora Paz tivesse a mesma idade de Petr, Tanya logo percebeu que o sexo com ele seria diferente: o centro das atenções era o corpo dele. O general se despiu devagar, como se a provocasse, e depois ficou em pé na sua frente, parado, dando-lhe tempo para admirar sua pele perfeita e as curvas de seus músculos. Tanya gostou de ficar sentada na beira da cama admirando aquele homem. A exibição parecia excitá-lo, pois seu pênis já estava a meio mastro, grosso de desejo; Tanya mal podia esperar para tocá-lo. Petr tinha sido um amante paciente, delicado. Conseguia provocar nela uma antecipação febril, e em seguida se conter para provocá-la ainda mais. Mudava de posição várias vezes, pondo-a por cima, ajoelhando-se por trás dela, depois fazendo-a montar nele. Paz não era violento, mas era vigoroso, e Tanya se entregou à excitação e ao prazer. Depois do sexo, ela preparou ovos e fez um café. Paz ligou a TV e juntos assistiram ao discurso de Fidel enquanto comiam. Fidel Castro estava sentado à frente da bandeira nacional de Cuba, cujas vivas listras azuis e brancas pareciam pretas e brancas na imagem monocromática do televisor. Como sempre, usava uma roupa de combate cáqui, e o único indício de patente era uma estrela na ombreira. Tanya nunca o tinha visto em trajes civis, tampouco usando aqueles uniformes pomposos e
repletos de medalhas prezados pelos líderes comunistas de outras nações. Sentiu uma onda de otimismo. Fidel não era bobo: sabia que não conseguiria derrotar os Estados Unidos em uma guerra, nem mesmo com o apoio da União Soviética. Com certeza iria inventar algum gesto dramático de reconciliação, alguma iniciativa que pudesse transformar a situação e desarmar aquela bomba-relógio. Tinha uma voz aguda, esganiçada, mas falava com uma paixão arrebatadora. Embora fosse óbvio que estava dentro de um estúdio, a barba cerrada lhe dava o aspecto de um messias a pregar no deserto. Duas sobrancelhas pretas expressivas se agitavam na testa larga. Ele gesticulava com as mãos grandes, e às vezes erguia um indicador, como um professor de escola para proibir qualquer desobediência; muitas vezes cerrava o punho. De vez em quando, segurava os braços da cadeira como para se impedir de levantar voo qual um foguete. Parecia não ter roteiro, nem sequer anotações. Sua expressão exibia indignação, orgulho, desprezo, raiva, mas jamais dúvida. Fidel Castro vivia em um universo de certezas. Ele atacou ponto a ponto o discurso televisivo de Kennedy, transmitido ao vivo pelo rádio. Desdenhou o apelo feito pelo presidente americano ao “povo aprisionado de Cuba”. “Nós não somos soberanos só porque os yanquis permitem”, falou, com desprezo. No entanto, não disse nada sobre a União Soviética nem sobre armas nucleares. O discurso durou uma hora e meia. Foi um espetáculo de magnetismo digno de Churchill: a corajosa e pequena Cuba desafiaria os grandes e truculentos Estados Unidos e jamais se renderia. Aquilo devia ter levantado o moral do povo cubano, mas, tirando isso, tudo ficara na mesma. Tanya sentiu uma decepção profunda e seu medo aumentou. Fidel nem sequer tentara impedir uma guerra. No fim, ele bradou: “Pátria ou morte, vamos vencer!” Então pulou da cadeira e saiu correndo, como se não tivesse nenhum segundo a perder na luta para salvar Cuba. Tanya olhou para Paz. Os olhos do general estavam marejados. Ela o beijou e os dois transaram outra vez, no sofá, em frente ao chuvisco da tela da TV . Dessa vez foi mais lento e mais prazeroso. Ela o tratou da mesma forma que Petr costumava tratá-la. Não era difícil adorar aquele corpo, e ele sem dúvida gostava de ser adorado. Ela apertou os músculos de seus braços, beijou-lhe os mamilos e enroscou os dedos nos cachos de seus cabelos. – Como você é lindo – murmurou, chupando o lóbulo de sua orelha. Depois do sexo, quando estavam deitados dividindo um charuto, ouviram barulhos vindos de fora. Tanya abriu a porta que dava para a varanda. A cidade se acalmara enquanto Fidel falava na TV , mas agora as pessoas começavam a sair às ruas estreitas. A noite havia caído, e alguns carregavam velas e tochas. O instinto jornalístico de Tanya tornou a despertar. – Preciso ir lá fora – disse ela para Paz. – Isso que está acontecendo rende uma matéria e tanto. – Vou com você. Vestiram-se e saíram. Apesar das ruas molhadas, a chuva havia estiado. Cada vez mais
pessoas iam aparecendo. O clima era de Carnaval. Todos gritavam vivas e slogans, e muitos entoavam o hino nacional, “La Bayamesa”. A melodia não tinha nada de latina e soava mais como uma canção de bar alemã, mas as pessoas cantavam cada palavra com total sinceridade. Viver acorrentado é viver Na desonra e ignomínia. Ouçam o chamado do berrante: Depressa, ó valentes, às armas! Enquanto os dois marchavam pelos becos da cidade antiga junto com a multidão, Tanya reparou que muitos dos homens estavam armados. Na falta de armas de fogo, seguravam ferramentas de jardim e facões ou traziam no cinto facas e cutelos de cozinha, como se estivessem indo combater os americanos corpo a corpo no Malecón. Lembrou que um B-52 Stratofortress da Força Aérea americana transportava mais de trinta mil quilos de explosivos. Que bobagem! Coitados de vocês!, pensou com amargura. De que acham que suas facas vão adiantar contra uma coisa assim?
CAPÍTULO DEZESSETE
George nunca havia se sentido tão próximo da morte quanto na Sala do Gabinete da Casa Branca naquela quarta-feira, 24 de outubro. A reunião matinal começava às dez, e ele pensava que a guerra fosse estourar antes das onze. Tecnicamente falando, era uma reunião do Comitê Executivo do Conselho de Segurança Nacional, chamado de ComEx para encurtar. Kennedy convocava todos os que pensava poderem ajudar na crise. Seu irmão Bobby sempre participava. Os conselheiros estavam sentados em cadeiras de couro em volta da mesa comprida, e seus assessores, acomodados em cadeiras parecidas encostadas nas paredes. A tensão na sala era sufocante. O status de alerta do Comando Aéreo Estratégico tinha subido para DEFCON-2, apenas um nível abaixo de uma guerra iminente. Todos os bombardeiros da Força Aérea estavam a postos. Muitos deles, carregados de armas nucleares, não pousavam mais e patrulhavam constantemente o Canadá, a Groenlândia e a Turquia, o mais perto possível das fronteiras da URSS. Cada bombardeiro tinha um alvo soviético específico. Se uma guerra eclodisse, os americanos dariam início a um ataque nuclear que arrasaria todas as cidades importantes da União Soviética. Milhões de pessoas morreriam. A Rússia demoraria cem anos para se recuperar. E os soviéticos tinham um plano semelhante em relação aos Estados Unidos. O bloqueio naval estava marcado para começar às dez. A partir dessa hora, qualquer embarcação soviética a menos de 800 quilômetros de Cuba poderia ser alvejada. A primeira interceptação de um navio soviético carregado de mísseis pelo USS Essex estava prevista para ocorrer entre dez e meia e onze horas. Às onze, todos eles já poderiam estar mortos. John McCone, diretor da CIA, abriu a reunião citando os nomes de todas as embarcações soviéticas a caminho de Cuba. Seu tom de voz monocórdio deixou todo mundo impaciente e só fez aumentar a tensão. Que navios soviéticos a Marinha deveria interceptar primeiro? O que iria acontecer depois? Será que os soviéticos deixariam seus navios serem inspecionados? Será que disparariam contra navios americanos? Nesse caso, o que a Marinha faria? Enquanto o grupo ali reunido tentava adivinhar o que estariam pensando seus equivalentes em Moscou, um assessor trouxe um bilhete para McCone. Elegante sessentão de cabelos brancos, McCone era um executivo e George desconfiava que os profissionais que faziam carreira na CIA não lhe revelavam tudo o que faziam. McCone leu o bilhete através dos óculos sem armação e pareceu intrigado com o conteúdo. Demorou algum tempo para falar: – Presidente, o Escritório de Inteligência Naval acaba de nos informar que todos os seis
navios soviéticos atualmente em águas cubanas pararam ou reverteram o curso. Que droga significa isso? pensou George. – Como assim, em águas cubanas? – perguntou Dean Rusk, o secretário de Estado careca e de nariz achatado. McCone não soube explicar. – A maioria desses navios está indo no sentido oposto, de Cuba para a União Soviética... – disse Bob McNamara, presidente da Ford que Kennedy havia nomeado secretário de Defesa. – Por que não procuramos saber? – interrompeu o presidente, irritado. – Estamos falando em navios que estão saindo de Cuba ou entrando? – Vou descobrir – retrucou McCone, e saiu da sala. A tensão aumentou mais um pouco. George sempre havia pensado que as reuniões de crise na Casa Branca seriam um festival de profissionalismo, com todos dando informações precisas ao presidente para que ele pudesse tomar uma decisão sensata. No entanto, apesar de aquela ser a maior crise que já haviam enfrentado, imperavam a confusão e os mal-entendidos. Isso deixava George mais assustado ainda. Ao voltar, McCone falou: – Os navios estavam todos seguindo para oeste, em direção a Cuba. Ele citou o nome das seis embarcações. McNamara tomou a palavra. Tinha 46 anos, e a expressão “Menino-Prodígio” fora cunhada para ele depois que conseguira transformar em lucro os prejuízos da Ford Motor Company. O presidente confiava mais nele do que em qualquer outra pessoa presente naquela sala, à exceção de Bobby. Então, de cabeça, McNamara recitou a posição de cada um dos seis navios. A maioria ainda estava a centenas de quilômetros de Cuba. O presidente ficou impaciente: – O que eles disseram que estão fazendo com esses navios, John? – Todos pararam ou reverteram o curso – respondeu McCone. – Esses são todos os navios soviéticos, ou só alguns? – Só alguns. Ao todo são 24. Mais uma vez, McNamara os interrompeu com a informação mais importante: – Parece que esses são os navios mais próximos da barreira da quarentena. – Parece que os soviéticos estão recuando da beira do precipício – sussurrou George para Skip Dickerson, sentado ao seu lado. – Espero que você tenha razão – murmurou Skip. – Não estamos planejando interceptar nenhum desses navios, estamos? – perguntou o presidente. – Não estamos planejando interceptar nenhum navio que não esteja indo para Cuba. O chefe do Estado-Maior Conjunto, general Maxwell Taylor, pegou um telefone e disse: – Quero falar com George Anderson.
O almirante Anderson era o chefe de operações navais e o responsável pelo bloqueio. Depois de alguns instantes, Taylor começou a falar baixinho. Houve um silêncio. Todos tentavam absorver a notícia e entender o que ela significava. Será que os soviéticos estavam desistindo? – Precisamos verificar antes – disse o presidente. – Como podemos descobrir que seis navios estão revertendo o curso ao mesmo tempo? General, o que a Marinha tem a dizer sobre essa informação? O general Taylor ergueu os olhos e respondeu: – Três dos navios com certeza estão dando meia-volta. – Entre em contato com o Essex e mande aguardarem uma hora. Precisamos ser rápidos, porque eles vão interceptar entre dez e meia e onze horas. Todos na sala conferiram seus relógios. Eram 10h32. George olhou de relance para a expressão de Bobby: seu chefe parecia um condenado à morte que acabara de ser agraciado com o perdão. A crise imediata havia terminado, mas nos minutos seguintes George se deu conta de que nada fora solucionado. Embora os soviéticos estivessem obviamente tomando providências para evitar um confronto no mar, seus mísseis nucleares continuavam em Cuba. Os ponteiros do relógio tinham sido atrasados uma hora, mas continuavam a avançar. O ComEx então falou sobre a Alemanha. Kennedy temia que Kruschev talvez anunciasse um bloqueio a Berlim Ocidental como retaliação ao bloqueio naval americano a Cuba. No entanto, não havia nada que eles pudessem fazer em relação a isso. A reunião se dispersou. George não precisava estar presente no compromisso seguinte de Bobby. Saiu junto com Skip Dickerson, que perguntou: – Como vai sua amiga Maria? – Vai bem, eu acho. – Passei na assessoria ontem. Ela ligou para avisar que está doente. George sentiu um aperto no coração. Já havia desistido por completo de qualquer romance com Maria, mas mesmo assim a notícia de que ela estava doente lhe causou pânico. – Eu não sabia. – Não tenho nada com isso, George, mas ela é uma moça bacana e acho que alguém talvez devesse ir ver como ela está. George apertou de leve o braço do amigo. – Obrigado por me avisar. Você é um bom amigo. Funcionários da Casa Branca não mandavam avisar que estavam doentes no meio da maior crise da Guerra Fria, pensou ele, a menos que fosse alguma coisa grave. Ficou mais aflito ainda. Foi depressa até a assessoria. A cadeira de Maria estava vazia. Nelly Fordham, simpática secretária que ocupava a mesa ao lado, informou:
– Maria está passando mal. – Fiquei sabendo. Ela disse o que é? – Não. George franziu a testa. – Será que consigo tirar uma horinha para ir visitá-la? – Seria ótimo – falou Nelly. – Também estou preocupada. Ele olhou para o relógio. Tinha quase certeza de que Bobby não precisaria dele até depois do almoço. – Acho que dá tempo. Ela mora em Georgetown, não é? – Isso, mas se mudou de onde estava antes. – Por quê? – Disse que as colegas de apartamento eram enxeridas demais. Fazia sentido, pensou George. Outras moças ficariam desesperadas para descobrir a identidade de um amante secreto. Maria estava tão decidida a guardar segredo que tinha mudado de casa; isso indicava que seu envolvimento com o tal sujeito era mesmo sério. Nelly estava folheando o fichário giratório. – Vou anotar o endereço para você. – Obrigado. Ela lhe entregou um pedaço de papel e perguntou: – Você é Georgy Jakes, não é? – Sou, sim. – Ele sorriu. – Mas faz tempo que ninguém me chama de Georgy. – Eu conhecia o senador Peshkov. A menção a Greg quase certamente significava que ela sabia que ele era pai de George. – É mesmo? Conhecia como? – Nós namoramos, para falar a verdade. Só que não deu em nada. Como ele está? – Muito bem. Almoço com ele uma vez por mês, mais ou menos. – Ele nunca se casou, não é? – Ainda não. – E já deve ter mais de 40. – Acho que ele tem alguém. – Ah, fique tranquilo, não estou atrás dele. Já tomei essa decisão faz tempo. Mas mesmo assim quero o seu bem. – Direi isso a ele. Agora vou pegar um táxi e ver como está Maria. – Obrigada, Georgy... ou melhor, George. Ele saiu apressado. Nelly era uma mulher bonita e tinha bom coração. Por que Greg não havia se casado com ela? Talvez ser solteiro lhe conviesse. – O senhor trabalha na Casa Branca? – perguntou o taxista. – Sim, com Bobby Kennedy. Sou advogado. – Não brinca?! – O motorista não se deu ao trabalho de esconder a surpresa com o fato de
um negro ser advogado e ter um cargo importante. – Pois diga ao Bobby que a gente deveria bombardear Cuba até ela virar pó. Sim, senhor. Bombardear todos eles até virarem pó. – O senhor sabe qual o tamanho de Cuba de uma ponta a outra? – Que papo é esse, um programa de calouros? – perguntou o homem, contrariado. George deu de ombros e não falou mais nada. Nos últimos tempos, vinha evitando debates políticos com pessoas de fora do governo. Elas em geral tinham respostas fáceis: mandar todos os mexicanos de volta para casa, obrigar os integrantes do Hell’s Angels a se alistarem no Exército, castrar as bichas. Quanto mais ignorantes, mais extremas eram suas opiniões. Georgetown ficava a poucos minutos da Casa Branca, mas o trajeto lhe pareceu longo. George imaginou Maria desmaiada no chão, deitada na cama à beira da morte, ou então em coma. O endereço que Nelly lhe dera se revelou uma bonita casa antiga dividida em vários apartamentos pequenos. Maria não atendeu à campainha, mas uma moça negra com cara de universitária o deixou entrar e lhe indicou onde ela morava. Maria veio abrir a porta de roupão. De fato, parecia doente. Estava abatida e com uma expressão arrasada. Não disse “entre”, mas afastou-se deixando a porta aberta, e ele entrou. Pelo menos ela estava andando, pensou, aliviado; temera coisa pior. O apartamento era minúsculo, só um quartinho e uma cozinha americana. Ele calculou que ela devia usar o banheiro coletivo do corredor. Olhou-a com atenção. Sentia muito por vê-la assim, não só doente, mas triste. Quis abraçála, mas sabia que ela não iria deixar. – O que houve, Maria? Você está com uma cara péssima! – Nada de mais, coisas de mulher. A expressão era o eufemismo geralmente usado para designar o período menstrual, mas ele estava convencido de que não era só isso. – Deixe eu lhe preparar um café... ou quem sabe um chá? – Ele tirou o sobretudo. – Não, obrigada. Mas George decidiu preparar a bebida mesmo assim, só para mostrar a ela que se importava. Nessa hora, porém, olhou para a cadeira em que ela estava prestes a sentar e viu que o assento estava manchado de sangue. Ela reparou ao mesmo tempo, enrubesceu e disse: – Ai, que droga. George sabia alguma coisa sobre o corpo feminino. Várias possibilidades lhe passaram pela cabeça. – Maria, você estava grávida e perdeu o bebê? – Não – respondeu ela sem entonação. Então hesitou. Ele aguardou, paciente. – Eu fiz um aborto – admitiu ela por fim. – Ai, coitadinha. – Ele pegou um pano de prato na cozinha, dobrou-o e o pôs em cima da
mancha. – Sente aqui por enquanto. Descanse. Olhou para a prateleira acima da geladeira e viu uma caixa de chá de jasmim. Imaginando que devesse ser o de que ela gostava, pôs água para ferver. Não disse mais nada até o chá ficar pronto. As leis relacionadas ao aborto variavam dependendo do estado. George sabia que, ali na capital, o procedimento era legalizado caso fosse necessário proteger a saúde da mãe. Muitos médicos tinham uma interpretação bem liberal desse preceito, que incluía a saúde e o bemestar da mulher em geral. Na prática, qualquer um que tivesse dinheiro podia encontrar um médico disposto a realizar um aborto. Embora tivesse dito que não queria o chá, ela aceitou uma xícara. George se sentou na sua frente com outra xícara para si. – O seu amante secreto – falou. – Imagino que seja o pai. Ela assentiu. – Obrigada pelo chá. Suponho que a Terceira Guerra Mundial ainda não tenha começado, caso contrário você não estaria aqui. – Os soviéticos fizeram seus navios reverterem o curso, então o perigo de um confronto no mar diminuiu. Mas os cubanos continuam com armas nucleares apontadas para nós. Maria parecia deprimida demais para se importar com isso. – Ele não quer casar com você – falou George. – Não. – Porque já é casado? Ela não respondeu. – Então arrumou um médico e pagou a conta. Ela assentiu. George achou aquele comportamento desprezível, mas, se dissesse isso, ela provavelmente o expulsaria da casa por insultar o homem que amava. Tentando controlar a raiva, ele perguntou: – Onde ele está agora? – Ele vai ligar. – Ela olhou para o relógio de parede. – Daqui a pouco, provavelmente. George decidiu não fazer mais perguntas. Seria maldade interrogá-la, e ela não precisava de ninguém para lhe dizer quanto tinha sido boba. Mas do que ela precisava, então? Resolveu perguntar: – Está precisando de alguma coisa? Posso ajudar? Ela começou a chorar. – Eu mal o conheço! – falou, entre soluços. – Como pode ser meu único amigo de verdade nesta cidade inteira? Ele sabia a resposta para essa pergunta: Maria tinha um segredo que não dividia com ninguém. Isso dificultava a aproximação das pessoas. – Que sorte a minha você ser tão gentil.
A gratidão dela o deixou constrangido. – Está doendo? – perguntou. – Sim, está doendo pra caramba. – Quer que eu chame um médico? – Não é para tanto. Eles me avisaram que iria doer. – Você tem aspirina em casa? – Não. – Que tal eu sair para comprar? – Você faria isso? Detesto pedir a um homem para fazer compras para mim. – Não tem problema, é uma emergência. – Tem uma farmácia bem na esquina. George largou a xícara e tornou a vestir o sobretudo. – Posso lhe pedir um favor ainda maior? – indagou ela. – Claro. – Preciso de absorventes higiênicos. Você acha que consegue me comprar uma caixa? Ele hesitou. Um homem comprando absorventes? – Não, é pedir demais – disse ela. – Esqueça. – Ah, o que eles vão fazer? Me prender? – A marca é Kotex. George assentiu. – Eu já volto. Sua coragem não durou muito. Ao chegar à farmácia, sentiu-se fulminado pela vergonha. Disse a si mesmo para se controlar. E daí se era constrangedor? Homens da mesma idade que a sua arriscavam a vida nas selvas do Vietnã. O que poderia haver de tão grave naquela situação? A loja tinha três corredores de autoatendimento e um balcão. A aspirina não ficava nas gôndolas, era preciso pedir. Para consternação de George, o mesmo valia para os produtos de higiene feminina. Ele pegou um pacote de cartolina com seis garrafas de Coca: ela estava com hemorragia, então precisava se hidratar. Mas não conseguiu adiar por muito tempo o momento da humilhação. Aproximou-se do balcão. A vendedora era uma mulher branca de meia-idade. Que sorte a minha, pensou ele. Pôs a embalagem de refrigerantes em cima do balcão e pediu: – Queria aspirina, por favor. – De que tamanho? Temos vidros pequenos, médios e grandes. George ficou sem ação. E se ela lhe perguntasse que tamanho de absorvente ele queria? – Ahn, grande, eu acho – respondeu. A vendedora pôs sobre o balcão um vidro grande de aspirina.
– Mais alguma coisa? Uma jovem cliente apareceu e se postou atrás dele segurando uma cesta de arame cheia de cosméticos. Naturalmente iria escutar tudo. – Mais alguma coisa? – repetiu a mulher. Vamos lá, George, seja homem, pensou. – Queria uma caixa de absorventes higiênicos – falou. – Kotex. A moça atrás dele abafou uma risadinha. A vendedora o encarou por cima dos óculos. – Está fazendo isso por causa de alguma aposta, rapaz? – Não, minha senhora! – respondeu ele, indignado. – São para uma moça que está doente demais para vir à loja. Ela o olhou de cima a baixo, observando o terno cinza-escuro, a camisa branca, a gravata lisa e o lenço branco dobrado no bolso da frente do paletó. Ele ficou feliz por não ter a aparência de um universitário participando de algum trote. – Está bem, eu acredito – falou. Levou a mão até debaixo do balcão e pegou uma caixa de absorventes. George olhou para aquilo horrorizado. A palavra Kotex estava impressa na lateral em letras grandes. Será que ele teria de carregar aquilo pela rua? – O senhor prefere que eu embale? – indagou a vendedora, lendo seus pensamentos. – Sim, por favor. Com movimentos rápidos e experientes, ela embrulhou a caixa em papel pardo e a pôs dentro de uma sacola junto com a aspirina. George pagou. A vendedora o encarou com um olhar duro, então pareceu se comover. – Desculpe ter duvidado. O senhor deve ser um bom amigo dessa moça. – Obrigado – disse ele, e saiu da loja depressa. Apesar do frio de outubro, estava suando. Voltou para o apartamento de Maria. Ela tomou três aspirinas, depois subiu o corredor em direção ao banheiro segurando firme a caixa embrulhada. George guardou as Cocas na geladeira e olhou em volta. Viu uma prateleira de livros de Direito acima de uma pequena mesa com fotos em porta-retratos. Em uma delas apareciam seus pais, supôs, e um religioso de certa idade que devia ser seu digno avô. Outra mostrava Maria com a roupa de formatura. Havia também uma foto do presidente Kennedy. Maria tinha um televisor, um rádio e um toca-discos. Ele examinou os discos. Ela gostava das bandas mais recentes de música pop: The Crystals, Little Eva, Booker T. & The MG’s. Sobre a mesa de cabeceira repousava o romance de sucesso A nave dos loucos. Enquanto ela estava no banheiro, o telefone tocou. George atendeu: – É da casa de Maria.
– Posso falar com ela, por favor? – pediu uma voz masculina. A voz era vagamente conhecida, mas George não conseguiu identificá-la. – Ela deu uma saidinha. Quem está... espere um instante, ela acabou de voltar. Maria arrancou o fone da sua mão. – Alô? Ah, oi... É um amigo, ele me trouxe umas aspirinas... Ah, não muito, eu vou ficar bem... – Vou ficar no hall para deixar você à vontade – disse George. Não estava gostando nem um pouco daquele amante de Maria. Mesmo que o imbecil fosse casado, deveria estar presente. Tinha engravidado a moça, então deveria cuidar dela depois do aborto. Mas aquela voz... não era a primeira vez que ele a ouvia. Será que conhecia o amante dela? Não seria nenhuma surpresa se fosse um colega de trabalho, como sua mãe supusera. Mas a voz do outro lado da linha não era a de Pierre Salinger. A moça que tinha aberto a porta para ele passou, novamente de saída. Sorriu ao vê-lo em pé do lado de fora, como um menino que se comportou mal. – Fez bagunça na aula? – perguntou. – Quem me dera – respondeu George. Ela riu e seguiu seu caminho. Maria abriu a porta e ele tornou a entrar. – Tenho mesmo que voltar ao trabalho – falou. – Eu sei. Você veio me visitar no meio da crise de Cuba. Nunca vou esquecer. Ela estava visivelmente mais feliz depois de ter falado com o amante. De repente, George teve um lampejo de compreensão. – A voz! No telefone. – Você reconheceu? Ele ficou perplexo. – Você está tendo um caso com Dave Powers? Para consternação de George, Maria deu uma risada sonora. – Ora, faça-me o favor! Ele percebeu na hora como aquilo era improvável. O assistente pessoal do presidente era um homem feio de 50 e poucos anos que ainda usava chapéu. Era pouco provável que conquistasse o coração de uma moça linda e cheia de vida. Instantes depois, atinou com quem Maria estava tendo um caso. – Ai, meu Deus – falou, encarando-a. Estava atônito com o que acabara de compreender. Maria não disse nada. – Você está transando com o presidente! – exclamou George, assombrado. – Por favor, não conte a ninguém! – implorou ela. – Se você contar, ele vai me deixar. Por favor, prometa!
– Eu prometo – falou George.
Pela primeira vez na vida, Dimka tinha feito uma coisa verdadeira, indiscutível e vergonhosamente errada. Não era casado com Nina, mas ela esperava que ele fosse fiel e ele supunha que ela também o fosse, portanto não havia dúvida de que traíra sua confiança ao passar a noite com Natalya. Tinha pensado que aquela talvez fosse a última noite da sua vida, mas a desculpa agora parecia esfarrapada. Não chegara a ter uma relação sexual com Natalya, mas isso também era uma desculpa esfarrapada; o que os dois tinham feito era até mais íntimo e mais afetuoso do que o sexo convencional. Estava torturado pela culpa. Jamais se sentira tão pouco digno de confiança, tão insincero e irresponsável. Seu amigo Valentin sem dúvida manteria o caso com as duas até ser desmascarado, mas Dimka nem cogitava essa possibilidade. Já estava se sentindo mal o suficiente depois de uma única noite de traição; seria incapaz de repetir aquilo de maneira regular. Acabaria se atirando no rio Moscou. Precisava contar para Nina ou então terminar com ela, ou os dois. Não podia viver com uma farsa daquela magnitude. Constatou, porém, que estava assustado. Aquilo era ridículo. Ele era Dmitri Ilich Dvorkin, braço direito de Kruschev, odiado por alguns, temido por muitos. Como podia estar com medo de uma simples garota? Mas estava. E Natalya? Tinha uma centena de perguntas para fazer a ela. Queria saber o que ela sentia pelo marido, sobre quem nada sabia a não ser o nome, Nik. Será que eles estavam se divorciando? Nesse caso, a separação tinha alguma coisa a ver com ele? E o mais importante de tudo: Natalya via alguma participação dele em seu futuro? Cruzava com ela no Kremlin o tempo todo, mas os dois não tinham chance de ficar a sós. O Presidium se reuniu três vezes na terça-feira – de manhã, à tarde e à noite – e nos intervalos para as refeições os assessores ficaram ainda mais atarefados. Toda vez que olhava para Natalya, ela lhe parecia mais maravilhosa. Assim como os outros colegas, ele continuava usando o mesmo terno com o qual dormira, mas Natalya tinha posto um vestido azul-escuro com casaquinho combinando que lhe dava um aspecto profissional e sedutor. Embora sua tarefa fosse evitar a Terceira Guerra Mundial, Dimka estava achando difícil se concentrar nas reuniões. Ficava olhando para ela, lembrava-se do que tinham feito e desviava os olhos, constrangido; então, no minuto seguinte, olhava outra vez. Mas o ritmo de trabalho foi tão frenético que não conseguiu conversar a sós com ela nem mesmo por alguns segundos.
Na terça à noite, já bem tarde, Kruschev foi para casa dormir na própria cama, e todos os outros o imitaram. Bem cedo na quarta de manhã, Dimka deu ao premiê a feliz informação, recém-recebida de sua irmã em Cuba, de que o Alexandrovsk havia atracado em segurança em La Isabela. O resto do dia foi igualmente atarefado. Ele viu Natalya várias vezes, mas nenhum dos dois teve um minuto livre sequer. A essa altura, Dimka já estava se fazendo mil perguntas. O que ele achava que a noite de segunda-feira tinha significado? Quais eram seus desejos para o futuro? Se algum deles estivesse vivo dali a uma semana, queria passar o resto da vida com Natalya, com Nina... ou com nenhuma das duas? Na quinta, já estava desesperado por respostas. De modo irracional, sentia que não queria morrer em uma guerra nuclear antes de ter resolvido aquela questão. Tinha um encontro com Nina naquela noite: iriam ao cinema com Valentin e Anna. Se conseguisse escapar do Kremlin a tempo de manter o compromisso, o que poderia lhe dizer? O Presidium da manhã geralmente começava às dez, e os assessores se reuniam informalmente às oito na Sala Onilova. Na quinta-feira de manhã, ele tinha uma nova proposta de Kruschev para apresentar aos outros, e também torcia para conseguir conversar a sós com Natalya. Estava prestes a abordá-la quando Yevgeny Filipov apareceu com as primeiras edições dos jornais europeus. – As manchetes são todas ruins – anunciou, e, embora fingisse estar abalado pela tristeza, Dimka sabia que ele estava sentindo o contrário. – O recuo dos nossos navios está sendo retratado como um humilhante rebaixamento da União Soviética! Não era exagero, constatou Dimka ao espiar os jornais espalhados sobre as mesas modernas e baratas. Natalya saiu em defesa do premiê: – É claro que eles estão dizendo isso. Todos esses jornais têm donos capitalistas. Você esperava que eles fossem elogiar a sabedoria e o comedimento do nosso líder? É ingênuo, por acaso? – Ingênua é você. O Times de Londres, o Corriere de la Sera italiano e o Le Monde de Paris são os jornais que os líderes dos países do Terceiro Mundo que esperamos conquistar para a nossa causa leem e nos quais confiam. Era verdade. Por mais injusto que fosse, as pessoas mundo afora confiavam mais na imprensa capitalista do que nas publicações comunistas. – Não podemos decidir nossa política externa com base nas prováveis reações dos jornais ocidentais – retrucou Natalya. – Essa operação deveria ter sido ultrassecreta – falou Filipov. – Só que os americanos descobriram. Todos nós sabemos quem era o responsável pela segurança. – Ele estava se referindo a Dimka. – Por que essa pessoa está sentada aqui diante desta mesa? Não deveria estar sendo interrogada? – Talvez seja culpa da segurança do Exército – rebateu Dimka. Filipov trabalhava para o
ministro da Defesa. – Quando soubermos como o segredo vazou, aí sim poderemos decidir quem deve ser interrogado. Era uma resposta fraca e ele sabia disso, mas ainda não tinha a menor ideia do que saíra errado. Filipov mudou de tática: – No Presidium de hoje de manhã, a KGB vai informar que os americanos aumentaram drasticamente sua mobilização na Flórida. As ferrovias estão congestionadas com vagões carregados de tanques e peças de artilharia. A pista de turfe de Hallandale foi ocupada pela 1a Divisão de Blindados, e há milhares de homens dormindo nas arquibancadas. As fábricas de munição estão trabalhando sem descanso na produção de balas para os aviões americanos alvejarem soldados soviéticos e cubanos. Bombas de napalm... – Isso também estava previsto – interrompeu Natalya. – Mas o que nós vamos fazer quando eles invadirem Cuba? – perguntou Filipov. – Se reagirmos usando somente armas convencionais, não teremos como vencer; os americanos são fortes demais. Vamos reagir com armas nucleares? O presidente Kennedy afirmou que, se qualquer arma nuclear for lançada de Cuba, vai bombardear a União Soviética. – Ele não pode estar falando sério – disse Natalya. – É só ler os relatórios da Inteligência do Exército Vermelho. Há bombardeiros americanos nos rodeando neste exato instante! – Ele apontou para o teto, como se fosse possível erguer os olhos e ver os aviões. – Só existem dois desfechos possíveis para nós: uma humilhação internacional, se tivermos sorte, ou o holocausto nuclear. Natalya se calou. Ninguém em volta da mesa tinha resposta para isso. Exceto Dimka. – O camarada Kruschev tem uma solução – disse ele. Todos o encararam, espantados. – Na reunião de hoje de manhã, o primeiro-secretário vai sugerir uma proposta a ser feita aos Estados Unidos. – O silêncio era sepulcral. – Vamos desmontar nossos mísseis em Cuba... Ele foi interrompido por uma reação em coro ao redor da mesa que ia de arquejos de surpresa a gritos de protesto. Ergueu uma das mãos para pedir silêncio. – Vamos desmontar nossos mísseis em troca de uma garantia daquilo que queríamos desde o início. Os americanos terão de prometer não invadir Cuba. Os presentes levaram alguns segundos para digerir a informação. Natalya foi a primeira a entender. – Excelente – falou. – Como Kennedy vai poder recusar? Isso equivaleria a reconhecer sua intenção de invadir um país pobre do Terceiro Mundo. Ele seria condenado mundialmente por colonialismo. E estaria provando nossa tese de que Cuba precisa de mísseis nucleares para se defender. Além de ser a pessoa mais bonita em volta daquela mesa, ela era também a mais inteligente.
– Mas, se Kennedy aceitar, vamos ter que tirar os mísseis de lá – falou Filipov. – Eles não serão mais necessários! – disse Natalya. – A Revolução Cubana estará segura. Dimka pôde ver que Filipov queria criticar o plano, mas não conseguia. Kruschev tinha posto a União Soviética em uma situação espinhosa, mas acabara inventando uma saída honrosa. Quando a reunião se dispersou, Dimka enfim conseguiu abordar Natalya. – Precisamos conversar um minuto sobre os termos a serem usados na proposta de Kruschev para Kennedy – falou. Eles se afastaram até o canto da sala e sentaram-se. Dimka fitou a frente do vestido dela e se lembrou dos seios miúdos com mamilos proeminentes. – Você precisa parar de me encarar – disse ela. Ele se sentiu bobo. – Eu não estava encarando você – retrucou, embora evidentemente não fosse verdade. Ela ignorou a resposta: – Se continuar, até os homens vão reparar. – Desculpe, não consigo evitar. Estava desanimado. Aquela não era a conversa íntima e feliz que havia previsto. – Ninguém pode saber o que fizemos. – Natalya parecia assustada. Dimka teve a sensação de estar falando com uma pessoa diferente da moça alegre e sensual que o seduzira na antevéspera. – Bom, eu não planejo sair por aí contando, mas não sabia que era um segredo de Estado. – Eu sou casada! – Está planejando continuar com Nik? – Que pergunta é essa? – Vocês têm filhos? – Não. – As pessoas se divorciam. – Meu marido nunca iria aceitar um divórcio. Ele a encarou. Obviamente aquilo não era o fim do mundo: uma mulher podia se divorciar contra a vontade do marido. Mas aquela conversa na verdade não era sobre o estado civil de Natalya. Por algum motivo, ela estava apavorada. – Por que você fez aquilo, afinal? – perguntou Dimka. – Achei que fôssemos todos morrer! – E agora está arrependida? – Eu sou casada! – repetiu ela. Isso não respondia à sua pergunta, mas ele imaginou que não fosse conseguir lhe arrancar mais nada. Boris Kozlov, outro assessor de Kruschev, o chamou da cantina: – Dimka, vamos!
Ele se levantou. – Podemos conversar de novo em breve? – murmurou. Natalya baixou os olhos e não respondeu. – Dimka, vamos logo! – insistiu Boris. Ele saiu. O Presidium passou a maior parte do dia debatendo a proposta de Kruschev. Havia complicações. Será que os americanos insistiriam para inspecionar as bases de lançamento e verificar se tinham mesmo sido desativadas? Será que Fidel aceitaria essa inspeção? Será que ele prometeria não aceitar armas nucleares de nenhum outro país, como a China, por exemplo? Mesmo assim, na opinião de Dimka, aquilo representava a maior esperança de paz desde o início da crise. Enquanto isso, ficou pensando em Nina e Natalya. Antes da conversa daquela manhã, pensava que caberia a ele se decidir entre as duas. Agora percebia que tinha se iludido ao pensar que a escolha seria sua. Natalya não iria largar o marido. Percebeu que era louco por ela de um jeito que nunca tinha sido por Nina. Sempre que alguém batia na porta da sua sala, torcia para que fosse Natalya. Na sua lembrança, rememorou vezes sem conta os momentos que haviam passado juntos, escutando obsessivamente tudo o que ela lhe dissera até as inesquecíveis palavras: “Ai, Dimka, eu adoro você.” Não era um eu te amo, mas era quase. Só que ela não iria se divorciar. Mesmo assim, era Natalya que ele queria. Portanto, precisava dizer a Nina que estava tudo acabado entre eles. Não podia continuar tendo um caso com uma mulher que era sua segunda opção; seria desonesto. Na sua imaginação, pôde ouvir Valentin zombando de seus escrúpulos, mas não conseguia evitá-los. Só que Natalya pretendia ficar com o marido. Então ele ficaria sozinho. Falaria com Nina naquela mesma noite. Os quatro haviam combinado se encontrar no apartamento delas. Chamaria Nina num canto e lhe diria... o que exatamente? Quando tentava encontrar as palavras exatas, tudo parecia mais difícil. Vamos lá, pensou, você já escreveu discursos para Kruschev, pode muito bem escrever um para si mesmo. Está tudo acabado entre nós... Não quero mais namorar você... Pensei que estivesse apaixonado, mas percebi que não... Foi divertido enquanto durou... Tudo em que pensava lhe parecia cruel. Será que não havia nenhuma forma delicada de dizer aquilo? Talvez não. Que tal a verdade nua e crua? Conheci outra pessoa que amo de verdade... Isso soava pior do que todo o resto. No final da tarde, Kruschev decidiu que o Presidium deveria fazer uma demonstração pública de boa vontade internacional comparecendo em grupo ao Teatro Bolshoi, onde o
americano Jerome Hines cantaria Boris Godunov, a mais popular das óperas russas. Os assessores também estavam convidados. Dimka achou aquilo uma ideia boba. Quem se deixaria enganar? Por outro lado, ficou aliviado por ter que desmarcar o encontro com Nina, que agora lhe causava imensa apreensão. Telefonou para o sindicato e conseguiu pegá-la logo antes de ela sair. – Não vou conseguir ir ao cinema hoje à noite. Preciso ir ao Bolshoi com meu chefe. – Não dá para recusar? – perguntou ela. – Está brincando? Alguém que trabalhasse para o primeiro-secretário faltaria ao funeral da própria mãe antes de lhe desobedecer. – Quero encontrar você. – Não vai dar. – Passe na minha casa depois da ópera. – Vai ficar tarde. – Por mais tarde que seja, passe lá. Vou ficar acordada, mesmo se tiver que esperar a noite inteira. Ele ficou intrigado. Nina não costumava ser tão insistente. Estava soando quase carente, o que não era do seu feitio. – Aconteceu alguma coisa? – Temos que conversar sobre um assunto. – Que assunto? – Hoje à noite eu falo. – Fale agora. Ela desligou. Dimka vestiu o sobretudo e foi a pé até o teatro, a poucos passos do Kremlin. Jerome Hines tinha 1,98 metro e usava uma coroa com uma cruz no alto; sua presença era formidável. A voz de baixo incrivelmente portentosa enchia o teatro, fazendo seus espaçosos recintos parecerem pequenos. No entanto, Dimka assistiu à ópera de Mussorgsky sem ouvir muita coisa. Ignorou o espetáculo que acontecia no palco. Passou a noite preocupado ora com a reação dos americanos à proposta de paz de Kruschev, ora com a de Nina ao fim do relacionamento. Por fim, Kruschev disse boa-noite e Dimka foi a pé até o apartamento das duas moças, a cerca de um quilômetro e meio do teatro. No caminho, tentou imaginar sobre o que Nina queria conversar. Talvez ela fosse terminar o namoro, o que seria um alívio. Talvez tivessem lhe oferecido uma promoção que exigisse uma mudança para Leningrado. Talvez até ela tivesse conhecido outra pessoa, como ele, e decidido que esse outro homem era o certo. Ou talvez estivesse doente: uma doença fatal, relacionada com as misteriosas razões que a impediam de engravidar. Todas essas possibilidades ofereciam uma saída fácil para Dimka, e ele percebeu que ficaria feliz com qualquer uma delas, quem sabe até – para a própria
vergonha – a doença fatal. Não, pensou, na verdade não quero que ela morra. Como havia prometido, Nina estava à sua espera. Usava um roupão de seda verde como se estivesse prestes a ir para a cama, mas seus cabelos estavam perfeitos e ela estava levemente maquiada. Deu-lhe um beijo na boca, e ele retribuiu com o coração repleto de vergonha. Estava traindo Natalya ao saborear aquele beijo, e traindo Nina ao pensar em Natalya. A dupla culpa o deixou com dor de barriga. Nina lhe serviu um corpo de cerveja e ele bebeu metade bem depressa, torcendo para o álcool lhe dar coragem. Ela se acomodou ao lado dele no sofá. Dimka teve quase certeza de que ela estava nua por baixo do roupão, e a imagem de Natalya em sua mente começou a se apagar um pouco. – Não estamos em guerra ainda – falou. – Minha notícia é essa. E a sua? Nina pegou a cerveja da mão dele, pousou-a sobre a mesa de centro e segurou sua mão. – Estou grávida – disse. Dimka teve a sensação de ter levado um soco. Olhou para ela com uma expressão de choque e incompreensão. – Grávida – repetiu, feito um bobo. – De dois meses e pouquinho. – Tem certeza? – Já faz dois ciclos que não menstruo. – Mas mesmo assim... – Olhe. – Ela abriu o roupão e lhe mostrou os seios. – Estão maiores. Ele constatou que estavam mesmo, e sentiu um misto de desejo e desânimo. – E doloridos. – Ela fechou o roupão, mas não muito apertado. – E fumar tem me dado um enjoo danado. Caramba, estou me sentindo grávida. Não podia ser verdade. – Mas você falou... – Que não podia ter filhos. – Ela olhou para o outro lado. – Foi o que o médico me disse. – Já esteve com ele? – Já. Está confirmado. – E o que ele diz agora? – perguntou Dimka, incrédulo. – Que é um milagre. – Médicos não acreditam em milagres. – Foi o que pensei também. Ele tentou fazer o cômodo parar de girar à sua volta. Engoliu em seco e lutou para superar o choque. Precisava ser prático. – Você não quer se casar, e eu também não quero, de jeito nenhum – falou. – O que vamos fazer? – Você precisa me dar dinheiro para um aborto.
Ele engoliu em seco. – Está bem. Embora não fosse difícil fazer um aborto em Moscou, era caro. Dimka pensou em como poderia conseguir a quantia necessária. Vinha planejando vender a moto e comprar um carro usado. Se adiasse esse projeto, provavelmente conseguiria pagar. Também poderia pedir emprestado aos avós. – Isso eu posso fazer. Ela se corrigiu na mesma hora: – Vamos pagar metade cada um. Fizemos esse bebê juntos. De repente, a sensação de Dimka mudou. Foi o fato de ela ter dito bebê. Ele ficou dividido. Imaginou-se com um bebê no colo, vendo uma criança dar os primeiros passos, ensinando-a a ler, levando-a à escola. – Tem certeza de que quer abortar? – O que você está sentindo? – Desconforto. – Perguntou-se por que tinha essa sensação. – Não acho que seja um pecado nem nada desse tipo. Só comecei a imaginar... um bebezinho, sabe? – Não soube muito bem de onde vinham esses sentimentos. – Não podemos dar a criança para adoção? – Dar à luz e depois entregar o bebê para desconhecidos? – Eu sei, também não gosto dessa ideia. Mas é difícil criar um filho sozinha. Enfim, eu ajudaria você. – Por quê? – Porque o filho vai ser meu também. Ela segurou a mão dele. – Obrigada por dizer isso. – De repente, Nina lhe pareceu muito vulnerável, e ele sentiu um aperto no peito. – A gente se ama, não é? – perguntou ela. – Sim. Naquele instante, era verdade. Dimka pensou em Natalya, mas por algum motivo a imagem que teve dela foi vaga, distante, ao passo que Nina estava bem ali, em carne e osso, pensou, e essa expressão lhe pareceu mais vívida do que de costume. – E nós dois vamos amar a criança, não vamos? – Sim. – Bom, nesse caso... – Mas você não quer se casar. – Eu não queria. – Não queria? – Era assim que eu pensava antes de ficar grávida. – Mas mudou de ideia? – Tudo parece diferente agora. Dimka estava perplexo. Os dois estavam mesmo falando em casamento? Desesperado por
dizer alguma coisa, tentou fazer piada: – Se você está me pedindo em casamento, cadê o pão e o sal? A cerimônia de noivado tradicional russa previa a troca de presentes simbolizados por pão e sal. Para seu espanto, Nina desatou a chorar. Seu coração derreteu. Ele a envolveu nos braços. No início, ela resistiu, mas depois de alguns instantes se soltou. Suas lágrimas molharam a camisa de Dimka. Ele afagou seus cabelos. Ela então ergueu o rosto para um beijo, que interrompeu um minuto depois. – Faz amor comigo antes de eu ficar toda gorda e horrorosa? O roupão se entreabriu e ele viu um seio macio coberto por sardas encantadoras. – Faço – respondeu, destemido, empurrando a imagem de Natalya ainda mais para o fundo da mente. Nina o beijou outra vez. Ele segurou seu seio; estava mais pesado do que antes. Ela tornou a se afastar. – Você não estava falando sério no começo, estava? – Quando? – Quando disse que não queria se casar de jeito nenhum. Ainda segurando o seio dela, Dimka sorriu. – Não – respondeu. – Não estava falando sério.
Na tarde de quinta-feira, George Jakes estava levemente otimista. Apesar de fervendo, a panela ainda estava tampada. A quarentena já tinha entrado em vigor, os navios soviéticos que transportavam mísseis tinham dado meia-volta e não houvera nenhum confronto em alto-mar. Os Estados Unidos não tinham invadido Cuba e ninguém havia disparado nenhuma arma nuclear. Talvez, no final das contas, a Terceira Guerra Mundial pudesse ser evitada. A sensação durou apenas mais um pouco. Os assessores de Bobby Kennedy tinham uma TV em sua sala no Departamento de Justiça, e às cinco da tarde assistiram a uma transmissão da sede da ONU, em Nova York. O Conselho de Segurança estava reunido, vinte cadeiras em volta de uma mesa em forma de ferradura. Do lado interno da ferradura ficavam sentados intérpretes com fones de ouvido. O restante da sala estava abarrotado de assessores e outros observadores, que assistiam ao confronto cara a cara entre as duas superpotências. O embaixador americano junto à ONU chamava-se Adlai Stevenson, um intelectual careca que havia tentado ser candidato democrata à presidência em 1960 e sido derrotado por Jack Kennedy, que saía melhor no vídeo.
O representante soviético, o inexpressivo Valerian Zorin, negava em seu costumeiro tom monocórdio que houvesse qualquer arma nuclear em Cuba. Diante da TV, em Washington, George comentou, irritado: – Que mentiroso! Stevenson deveria mostrar as fotos e pronto. – Foi o que o presidente o mandou fazer. – Então por que ele não faz? Wilson deu de ombros. – Homens como Stevenson sempre acham que sabem decidir melhor. Na tela, Stevenson se levantou. – Vou fazer uma pergunta simples – falou. – Embaixador Zorin, o senhor nega que a União Soviética tenha instalado e continue instalando bases e mísseis de alcance médio e intermediário em Cuba? Sim ou não? – Boa, Adlai – falou George, e ouviu-se um murmúrio quando os homens que assistiam com ele concordaram. Em Nova York, Stevenson encarou Zorin, sentado a poucas cadeiras de distância dele na mesa em forma de ferradura. O russo continuou a fazer anotações em seu bloco. – Não fique esperando a tradução – insistiu o americano, impaciente. – Sim ou não? Os assessores em Washington riram. Por fim, Zorin acabou respondendo em russo, e o intérprete traduziu: – Sr. Stevenson, queira continuar sua declaração. Vai receber sua resposta no devido tempo, não se preocupe. – Estou preparado para esperar minha resposta até o inferno congelar – rebateu Stevenson. Os assessores de Bobby Kennedy comemoraram. Enfim os Estados Unidos estavam lhes dando uma dura! Stevenson então falou: – E também estou preparado para apresentar as provas aqui nesta sala. – É isso aí! – exclamou George, dando um soco no ar. – Se os senhores me derem um instante, vamos montar um cavalete aqui, no fundo da sala, onde espero que todos possam ver – continuou Stevenson. A câmera se moveu para dar um close em meia dúzia de homens de terno que montavam rapidamente um suporte para fotografias ampliadas. – Agora pegamos esses canalhas! – disse George. Stevenson prosseguiu, em tom controlado e seco, mas de alguma forma também permeado de agressividade: – A primeira série de imagens mostra uma área ao norte do vilarejo de Candelária, perto de San Cristóbal, a sudoeste de Havana. A primeira foto mostra a região em agosto de 1962, na época uma tranquila zona rural. – Delegados e outros presentes se aproximaram dos cavaletes para tentar ver a que Stevenson estava se referindo. – A segunda foto mostra a mesma região em um dia da semana passada. – Stevenson fez uma pausa, e o silêncio tomou
conta da sala. Alguns veículos e barracas tinham aparecido, bem como novas estradas secundárias, e a estrada principal tinha sido melhorada. – A terceira foto, tirada apenas 24 horas depois, mostra as instalações de um batalhão de mísseis de médio alcance – disse ele. As exclamações dos delegados se uniram para formar um burburinho de surpresa. Stevenson prosseguiu. Novas fotografias foram mostradas. Até então, alguns líderes nacionais acreditavam no desmentido do embaixador soviético. Agora todo mundo sabia a verdade. Impassível, Zorin não dizia nada. George tirou os olhos da TV e viu Larry Mawhinney entrar no recinto. Encarou-o com desconfiança: da última vez em que os dois tinham se falado, Larry se zangara com ele. Agora, porém, parecia amigável. – Oi, George – cumprimentou, como se os dois nunca tivessem trocado palavras ásperas. George respondeu em tom neutro: – Quais as notícias do Pentágono? – Vim avisar que nós vamos abordar um navio soviético – respondeu Larry. – O presidente decidiu há poucos minutos. O coração de George se acelerou. – Que merda – comentou. – Logo quando eu achei que as coisas poderiam estar se acalmando. – Parece que ele acha que a quarentena não significa nada a menos que interceptemos e inspecionemos pelo menos uma embarcação suspeita – continuou Mawhinney. – Ele já está reclamando por termos deixado passar um petroleiro. – Que tipo de navio vamos interceptar? – O Marucla, um cargueiro libanês com tripulação grega que está fazendo transporte para o governo soviético. Partiu de Riga, supostamente levando papel, enxofre e peças avulsas para caminhões soviéticos. – Não consigo imaginar os soviéticos confiando em uma tripulação grega para transportar seus mísseis. – Se você estiver certo, não vai haver problemas. George olhou para o relógio. – E quando vai ser isso? – Agora está de noite no Atlântico. Eles vão ter que esperar até de manhã. Larry se retirou, e George ficou pensando quão perigoso seria aquilo tudo. Difícil saber. Se o Marucla fosse tão inocente quanto fingia ser, talvez a abordagem corresse sem violência. Mas e se estivesse transportando armas nucleares? Kennedy havia tomado mais uma decisão arriscada. E havia seduzido Maria Summers. George não estava muito espantado com o fato de Kennedy estar tendo um caso com uma negra. Se metade das fofocas fosse verdade, ele não era nada difícil em se tratando de
mulheres. Muito pelo contrário: gostava de quarentonas e de adolescentes, de louras e morenas, de socialites do mesmo nível social que o seu e de datilógrafas sem nada na cabeça. George se perguntou por um instante se Maria ao menos desconfiava de que era uma entre muitas. Kennedy não tinha nenhum sentimento forte em relação a raça, e sempre considerara isso uma questão puramente política. Embora não tivesse querido ser fotografado com Percy Marquand e Babe Lee temendo perder votos, George já o vira apertando alegremente a mão de muitos negros e negras, conversando e rindo, relaxado e à vontade. Também ficara sabendo que o presidente frequentava festas nas quais havia prostitutas de todas as cores, embora não soubesse quão verídicos eram esses boatos. Mas a frieza de Kennedy o deixara chocado. Não tanto pelo procedimento pelo qual Maria tivera de passar – que já era suficientemente desagradável –, mas pelo fato de ela estar sozinha. O homem que a engravidara deveria ter ido buscá-la após a intervenção, tê-la levado para casa e ficado com ela até ter certeza de que estava tudo bem. Um telefonema só não bastava. O fato de ele ser presidente não era desculpa suficiente. Jack Kennedy caíra muito no conceito de George. Bem na hora em que ele estava pensando em homens irresponsáveis que engravidavam moças, seu pai entrou na sala. George ficou espantado: Greg nunca fora ao seu escritório antes. – Oi, George – disse ele, e os dois apertaram-se as mãos como se não fossem pai e filho. Greg estava usando um terno amarrotado feito de uma fazenda macia, azul com risca de giz, que parecia ter um pouco de cashmere na trama. Se eu pudesse pagar por um terno desses, pensou George, iria mantê-lo passado. Ele muitas vezes pensava isso ao olhar para Greg. – Que surpresa inesperada – respondeu. – Como vai? – Estava passando pela porta da sua sala. Quer tomar um café? Foram juntos até a cafeteria. Greg pediu um chá e George, uma garrafa de Coca-Cola e um canudo. Quando se sentaram, George comentou: – Uma pessoa me perguntou por você outro dia. Uma mulher que trabalha na assessoria de imprensa. – Qual é o nome dela? – Nell alguma coisa. Estou tentando me lembrar. Nelly Ford? – Nelly Fordham. O olhar de Greg se perdeu ao longe, e sua expressão revelou nostalgia por deleites já semiesquecidos. George achou graça. – Uma namorada sua, pelo visto. – Mais do que isso. Fomos noivos. – Mas não se casaram. – Ela terminou comigo. George hesitou.
– Talvez isso não seja da minha conta, mas... por quê? – Bom... se quer mesmo saber, ela descobriu sobre você, e disse que não queria se casar com um homem que já tinha família. George estava fascinado; seu pai raramente se abria em relação a essa época. Greg tinha um ar pensativo. – Nelly provavelmente estava certa. Você e sua mãe eram a minha família. Só que eu não podia me casar com a sua mãe... não podia ter uma carreira na política casado com uma negra. Então escolhi a carreira. Não posso dizer que ela me fez feliz. – Você nunca me falou sobre isso. – Eu sei. Foi preciso a ameaça da Terceira Guerra Mundial para me fazer lhe contar a verdade. Mas diga lá, como acha que as coisas estão caminhando? – Espere aí. Algum dia existiu mesmo a possibilidade de você se casar com mamãe? – Quando eu tinha 15 anos, queria isso mais do que qualquer outra coisa no mundo. Mas meu pai fez de tudo para garantir que não acontecesse. Eu tive outra chance, dez anos depois, mas a essa altura já tinha idade suficiente para ver como a ideia era maluca. Veja bem, casais inter-raciais ainda têm uma vida bem complicada hoje, nos anos 1960; imagine só como teria sido na década de 1940. Provavelmente nós três teríamos sido infelizes. – Ele parecia triste. – Além do mais, eu não tive colhão... a verdade é essa. Agora me fale sobre a crise. Com esforço, George voltou sua atenção para os mísseis cubanos. – Uma hora atrás, eu estava começando a acreditar que poderíamos sair dessa... mas agora o presidente mandou a Marinha interceptar um navio soviético amanhã de manhã. – Ele contou a Greg sobre o Marucla. – Se o navio for mesmo o que estão dizendo, não deve haver problema nenhum – falou Greg. – É. Nossos rapazes vão subir a bordo, inspecionar a carga, depois distribuir uns chocolates e ir embora. – Chocolates? – Cada navio de interceptação recebeu o equivalente a duzentos dólares em “material interpessoal”, ou seja, barras de chocolate, revistas e isqueiros baratos. – Viva os Estados Unidos! Mas... – Mas se a tripulação for soviética e a carga, ogivas nucleares, o navio provavelmente não vai parar quando solicitado. E aí vai começar a troca de tiros. – É melhor eu deixar você continuar a salvar o mundo. Os dois se levantaram e saíram da cafeteria. No corredor, tornaram a se cumprimentar com outro aperto de mão. – Mas na verdade eu passei aqui porque... George aguardou. – Pode ser que todos nós morramos neste fim de semana, e antes disso eu queria que você soubesse uma coisa.
– Está bem. – Ele se perguntou que diabos seu pai iria dizer. – Você é a melhor coisa que já me aconteceu na vida. – Nossa! – disse George, baixinho. – Não tenho sido grande coisa como pai, não fui gentil com a sua mãe e... bom, isso tudo você já sabe. Mas eu tenho orgulho de você, George. Sei que não mereço nenhum crédito, mas, meu Deus, como tenho orgulho... Estava com os olhos marejados. George não fazia ideia da força dos sentimentos de Greg. Ficou estarrecido. Não soube como reagir a emoções tão inesperadas. Acabou dizendo apenas: – Obrigado. – Tchau, George. – Tchau. – Que Deus o abençoe e proteja – disse Greg, e foi embora.
Bem cedo na manhã de sexta-feira, George foi para a Sala de Crise da Casa Branca. Kennedy mandara criar aquele conjunto de cômodos no subsolo da Ala Oeste, onde antes ficava uma pista de boliche. Seu objetivo declarado era acelerar o processo de informação durante uma crise; na verdade, porém, achava que os militares tivessem sonegado informações dele durante a crise da Baía dos Porcos, e queria ter certeza de que eles nunca mais teriam outra chance de fazer isso. Nessa manhã, as paredes estavam cobertas por mapas em grande escala de Cuba e seu entorno marítimo. Os teletipos zumbiam feito cigarras em uma noite de verão, gerando cópias dos telegramas do Pentágono. O presidente também podia ouvir as comunicações militares. As operações de quarentena estavam sendo comandadas de uma sala no Pentágono conhecida como Cabine de Controle da Marinha, mas as conversas de rádio entre a sala e os navios podiam ser interceptadas ali. Os militares detestavam a Sala de Crise. George se acomodou em uma moderna e desconfortável cadeira diante de uma mesa vagabunda e começou a escutar. Ainda estava pensando na conversa da noite anterior com Greg. Será que o senador esperava que George o abraçasse gritando “Papai!”? Provavelmente não; parecia à vontade com seu papel de tio. George não tinha qualquer desejo de mudar aquela situação. Aos 26 anos, não podia de repente começar a tratar Greg como um pai normal. Mesmo assim, estava bastante feliz com o que tinha escutado. Meu pai me ama, pensou; isso não pode ser de todo ruim. O navio americano Joseph P. Kennedy interpelou o Marucla ao raiar do dia. O Kennedy era um destróier de 2.400 toneladas armado com oito mísseis, um lançafoguetes antissubmarino, seis lança-torpedos e duas peças de artilharia de 12 centímetros.
Tinha também capacidade para cargas nucleares de profundidade. O Marucla desligou os motores na mesma hora, e George respirou mais aliviado. O Kennedy soltou um bote e seis homens abordaram o Marucla. Apesar do mar bravio, a tripulação do cargueiro foi solícita e lançou uma escada de corda pelo costado. Mesmo assim, a água agitada dificultou a abordagem. O oficial encarregado não queria passar ridículo caindo na água, mas depois de algum tempo tentou, pulou para pegar a corda e subiu no cargueiro. Seus homens subiram atrás. Os tripulantes gregos lhes ofereceram café. Mostraram-se mais do que dispostos a abrir os compartimentos para os americanos poderem conferir a carga, que consistia mais ou menos do que fora informado. Houve um momento de tensão quando os americanos insistiram para abrir um caixote identificado como “Instrumentos Científicos”, que no fim das contas estava cheio de material de laboratório bem pouco sofisticado, do tipo que se poderia encontrar em uma escola de ensino médio. Os americanos foram embora, e o Marucla seguiu seu curso para Havana. George deu a boa notícia a Bobby Kennedy por telefone, depois pegou um táxi. Pediu ao motorista que o levasse até a esquina da Rua 5 com a K, em uma das piores zonas de favela da cidade. Ali, acima de uma concessionária de automóveis, ficava o Centro Nacional de Interpretação Fotográfica da CIA. George queria entender melhor aquele ofício e tinha solicitado uma aula especial; como trabalhava para Bobby, tinha conseguido. Caminhou por uma calçada cheia de garrafas de cerveja, entrou no prédio, passou por uma roleta de segurança e foi escoltado até o terceiro andar. Quem lhe mostrou as instalações foi um perito em interpretação fotográfica grisalho chamado Claud Henry, que havia aprendido o ofício durante a Segunda Guerra Mundial analisando fotos aéreas de estragos causados por bombas alemãs. – Ontem a Marinha mandou jatos Crusader sobrevoarem Cuba, então agora temos fotografias tiradas a baixa altitude, muito mais fáceis de analisar – explicou ele. George não as achou tão fáceis assim. Para ele, as fotografias pregadas nas paredes da sala de Claud ainda pareciam arte abstrata, formas sem significado organizadas em um padrão aleatório. – Isto aqui é uma base militar soviética – disse o perito, apontando para uma das imagens. – Como o senhor sabe? – Aqui tem um campo de futebol. Os cubanos não jogam futebol. Se a base fosse cubana, teria um campo de beisebol em formato de diamante. George assentiu. Esperto, pensou. – Isto aqui é uma fila de tanques T-54. Para George, pareciam apenas quadrados pretos. – E estas barracas são abrigos antimíssil – disse Claud. – Segundo nossos barracólogos. – Barracólogos? – Isso. Eu na verdade sou caixotólogo. Escrevi o manual da CIA sobre caixotes.
George sorriu. – O senhor não está brincando, está? – Quando os soviéticos transportam por mar objetos grandes como aviões de caça, tem que ser no convés. Eles os disfarçam pondo dentro de caixotes. Mas nós em geral conseguimos descobrir as dimensões do caixote. E o tamanho do caixote no qual um MiG-15 é transportado é diferente do tamanho do caixote de um MiG-21. – Me diga uma coisa: os soviéticos têm esse tipo de conhecimento? – Acreditamos que não. Pense bem: eles derrubaram um U-2, então sabem que temos aviões de grande altitude com câmeras. No entanto, pensaram que poderiam mandar mísseis para Cuba sem que descobríssemos. Continuaram negando a existência dos mísseis até ontem, quando lhes mostramos as fotos. Portanto, eles sabem sobre os aviões espiões e sobre as câmeras, mas até agora não sabiam que podíamos ver seus mísseis da estratosfera. Isso me leva a crer que estão atrasados em relação a nós no que diz respeito à interpretação de imagens. – Faz sentido. – Mas a grande revelação de ontem à noite é esta. – Claud apontou para um objeto com barbatanas em uma das fotos. – Meu chefe vai informar o presidente daqui a no máximo uma hora. Tem 10 metros de comprimento. Nós chamamos de FROG, a sigla em inglês para Foguete Livre Terra-Terra. É um míssil de curto alcance previsto para situações de combate. – E vai ser usado contra soldados americanos em caso de invasão a Cuba. – Isso. E o FROG foi projetado para transportar uma ogiva nuclear. – Puta que pariu! – Deve ser isso mesmo que o presidente vai dizer.
CAPÍTULO DEZOITO
Na noite de sexta-feira, o rádio estava ligado na cozinha da casa da Great Peter Street. Pelo mundo todo, as pessoas mantinham sempre o rádio ligado, amedrontadas, à espera das últimas notícias. Era uma cozinha ampla, com uma mesa comprida de pinho encerado no centro. Jasper Murray estava preparando torradas e lendo os jornais. Lloyd e Daisy Williams recebiam todos os jornais de Londres e vários outros do continente. Desde que havia combatido na Guerra Civil da Espanha, o principal interesse de Lloyd como deputado era a política externa. Jasper passava os olhos pelas notícias em busca de algum motivo para ter esperança. No dia seguinte, sábado, haveria uma passeata de protesto em Londres, isso se a cidade ainda estivesse de pé. Jasper faria a cobertura como repórter da gazeta estudantil St. Julian’s News. Na verdade, não gostava muito de notícias de atualidade; preferia as matérias especiais, textos mais longos e reflexivos, nos quais o estilo podia ser um pouco mais refinado. Seu sonho era um dia trabalhar para uma revista, ou talvez até na televisão. Primeiro, no entanto, queria virar editor do St. Julian’s News. Muito cobiçado, o cargo praticamente garantia ao aluno um bom emprego como jornalista quando se formasse. Jasper tinha se candidatado, mas fora derrotado por Sam Cakebread. O sobrenome Cakebread era famoso no jornalismo britânico: o pai de Sam era editor assistente do Times londrino, e seu avô era um locutor de rádio extremamente popular. Sam tinha uma irmã mais nova que estudava em St. Julian’s e fora estagiária da revista Vogue. Jasper desconfiava que Sam devia o emprego mais ao sobrenome do que à competência. Mas ali na Grã-Bretanha a competência nunca bastava. O avô de Jasper tinha sido um grande general, e seu pai estava trilhando carreira semelhante até cometer o erro de se casar com uma judia; consequentemente, nunca havia ultrapassado a patente de coronel. O establishment britânico não perdoava quem violasse suas regras. Jasper ouvira dizer que nos Estados Unidos era diferente. Evie Williams, sentada com ele à mesa da cozinha, fabricava um cartaz com os dizeres TIREM AS MÃOS DE CUBA. Para alívio de Jasper, a paixonite de colegial que Evie tinha por ele era coisa do passado. Ela agora estava com 16 anos e tinha uma beleza pálida, etérea, mas era séria e intensa demais para o seu gosto. Qualquer rapaz que a namorasse precisaria compartilhar seu arrebatado comprometimento com uma ampla gama de campanhas contra a crueldade e a injustiça, do apartheid sul-africano às experiências com animais. Ele, por sua vez, não era comprometido com nada. Além disso, preferia garotas como a espevitada Beep Dewar, que, apesar de ter só 13 anos, enfiara a língua em sua boca e se esfregara nele quando seu pau estava duro. Observou Evie desenhar, dentro do O de “mãos”, o símbolo de quatro braços da Campanha
pelo Desarmamento Nuclear. – Quer dizer que o seu slogan apoia duas causas idealistas pelo preço de uma! – Idealista nada – retrucou ela, ríspida. – Se a guerra estourar hoje à noite, sabe qual vai ser o primeiro alvo das bombas soviéticas? A Grã-Bretanha. Isso porque temos armas nucleares que eles precisam eliminar antes de atacar os Estados Unidos. Não vão bombardear Portugal, nem a Noruega, nem qualquer país sensato o bastante para ficar de fora da corrida nuclear. Qualquer um que use a lógica para pensar a defesa do nosso país sabe que armas nucleares não nos protegem... elas nos põem em perigo. Jasper não tivera a intenção de que seu comentário fosse levado a sério, mas aquela garota levava tudo a sério. Igualmente sentado à mesa, o irmão de 14 anos de Evie, Dave, fabricava miniaturas de bandeiras cubanas. Tinha usado um molde vazado para pintar as listras em folhas de papel grosso e agora prendia as folhas a pequenos palitos de madeira balsa com uma pistola de grampos que pegara emprestada. Apesar de invejar a vida de privilégios do adolescente, cujos pais eram ricos e pouco rigorosos, Jasper se esforçava para ser simpático. – Quantas você vai fazer? – perguntou. – Trezentas e sessenta – respondeu Dave. – Imagino que não seja um número aleatório. – Se não morrermos todos bombardeados hoje à noite, vou vendê-las na passeata de amanhã por seis pence cada. Trezentos e sessenta pence são 180 shillings, ou nove libras, o preço do amplificador de guitarra que quero comprar. Dave tinha tino para negócios. Jasper se lembrou do bar que ele havia montado no intervalo da peça escolar, administrado por adolescentes que trabalhavam na velocidade máxima porque Dave lhes pagava uma comissão. No entanto, era um mau aluno, o último ou um dos últimos da turma em todas as matérias. Lloyd ficava louco com isso e acusava o filho de ser preguiçoso, pois sob outros aspectos Dave parecia inteligente. Mas Jasper achava que a situação era mais complicada. Dave tinha dificuldade para entender qualquer coisa escrita. Sua caligrafia sofrível, cheia de erros e até com letras invertidas, fazia Jasper pensar em seu melhor amigo do ensino fundamental, incapaz de cantar o hino da escola e para quem era difícil ouvir a diferença entre seu zumbido de uma nota só e a melodia que os outros meninos produziam. Da mesma forma, Dave tinha de fazer um esforço de concentração para ver a diferença entre o “d” e o “b”. Ansiava por corresponder às expectativas dos pais muito bemsucedidos, mas ficava sempre aquém. Enquanto grampeava as bandeiras de seis pence, ele obviamente devia estar distraído pensando em outra coisa, pois falou, do nada: – Sua mãe e a minha não deviam ter muita coisa em comum quando se conheceram. – Não tinham mesmo – concordou Jasper. – Daisy Peshkov era filha de um gângster russoamericano. Eva Rothmann era filha de médico em uma família judia de classe média em Berlim, e foi para os Estados Unidos fugindo dos nazistas. Sua mãe acolheu a minha.
– Minha mãe tem um coração gigante – comentou Evie, batizada em homenagem a Eva. – Queria que alguém me mandasse para os Estados Unidos – disse Jasper quase para si mesmo. – Por que não vai para lá e pronto? – indagou Evie. – Aproveite e diga para eles deixarem os cubanos em paz. Jasper não estava nem aí para os cubanos. – Não tenho dinheiro. Mesmo sem pagar aluguel, ele era duro demais para comprar uma passagem para os Estados Unidos. Nessa hora, a mulher do coração gigante entrou na cozinha. Aos 46 anos, Daisy Williams ainda era bonita, com grandes olhos azuis e cabelos louros cacheados. Quando jovem, pensou Jasper, devia ser irresistível. Nessa noite, estava vestida com recato: saia em tom médio de azul, blazer combinando e nenhuma joia. Estava disfarçando a riqueza para poder representar melhor o papel de mulher de político, pensou Jasper, cínico. Ainda tinha um corpo esbelto, embora não tanto quanto antigamente. Ao imaginá-la nua, pensou que Daisy devia ser melhor de cama do que a filha. Devia ser igual a Beep, do tipo que topava tudo. Ficou espantado por se pegar fantasiando com uma mulher da mesma idade de sua mãe. Que bom que as mulheres não conseguiam ler os pensamentos dos homens. – Que imagem bonita – comentou Daisy com afeto. – Três jovens estudando quietinhos. – Seu sotaque ainda era perceptivelmente americano, embora 25 anos morando em Londres o tivessem abrandado. Ela olhou espantada para as bandeiras do filho. – Que raro você se interessar pelas questões mundiais. – Vou vender as bandeiras por seis pence cada. – Eu deveria ter imaginado que os seus esforços não tinham nada a ver com a paz mundial. – Deixo a paz mundial para Evie. Bem-humorada, sua irmã respondeu: – Alguém precisa se preocupar com isso. Talvez estejamos todos mortos antes de a passeata começar, vocês sabem... tudo por causa da hipocrisia dos americanos. Jasper olhou para Daisy, mas ela não pareceu ofendida. Estava acostumada com os comentários éticos cáusticos da filha. – Eu acho que os americanos ficaram bem assustados com os mísseis em Cuba. – Nesse caso, deveriam tentar imaginar como os outros se sentem e tirar seus mísseis da Turquia. – Concordo, e acho que Kennedy errou ao pôr aqueles mísseis lá. Mas existe uma diferença. Aqui na Europa as pessoas estão acostumadas a ter mísseis apontados para elas, de ambos os lados da Cortina de Ferro. Mas o fato de Kruschev mandar mísseis para Cuba em segredo foi uma mudança chocante do status quo. – Nada mais justo. – E a política na prática é diferente da teoria. Mas vejam só como a história se repete: meu
filho é igualzinho ao meu pai, sempre atento à oportunidade de ganhar algum dinheiro, mesmo às portas da Terceira Guerra Mundial. E minha filha é igual a meu tio bolchevique Grigori, decidida a mudar o mundo. Evie ergueu os olhos. – Se ele foi bolchevique, mudou mesmo o mundo. – Mas será que foi para melhor? Lloyd entrou na cozinha. Como seus antepassados mineiros de carvão, tinha baixa estatura e ombros largos. Algo em seu jeito de andar sempre fazia Jasper pensar que ele já tinha sido campeão de boxe. Suas roupas tinham estilo, mas eram um pouco antiquadas: terno preto com trama espinha de peixe bem suave, lenço branco engomado no bolso da frente. O casal estava claramente a caminho de algum compromisso político. – Se você estiver pronta, eu também estou, querida – disse ele para Daisy. – Sobre o que vai ser a reunião? – quis saber Evie. – Cuba – respondeu o pai. – Sobre o que mais poderia ser? – Ele reparou no cartaz. – Estou vendo que você já se decidiu em relação ao assunto. – Não é muito complicado, é? O povo cubano deveria poder escolher o próprio destino... esse não é um princípio democrático básico? Jasper sentiu que uma briga estava se armando. Naquela família, as brigas sempre tinham a ver com política. Entediado com o idealismo de Evie, interrompeu a conversa: – Hank Remington vai cantar “Poison Rain” amanhã na Trafalgar Square. Jovem irlandês que na verdade se chamava Harry Riley, Remington era líder de uma banda pop chamada The Kords. A música, cujo título significava “chuva venenosa”, era sobre poeira radioativa. – Ele é demais – comentou Evie. – Tem o pensamento tão claro! Hank era um de seus heróis. – Ele foi falar comigo – disse Lloyd. A adolescente mudou de tom na mesma hora: – Você não me contou! – Foi hoje. – E o que achou dele? – Um verdadeiro gênio da classe operária. – O que ele queria? – Que eu me levantasse na Câmara dos Comuns e denunciasse Kennedy como instigador da guerra. – E você deveria ter feito isso mesmo! – E se o Partido Trabalhista ganhar as próximas eleições? Suponha que eu vire secretário das Relações Exteriores. Posso ter que ir à Casa Branca pedir apoio a Kennedy para algo que o governo trabalhista queira fazer; uma resolução na ONU contra a discriminação racial na África do Sul, talvez. Kennedy pode se lembrar de como eu o ofendi e me mandar pastar.
– Mesmo assim – insistiu Evie. – Acusar alguém de instigar a guerra em geral não ajuda em nada. Se achasse que isso resolveria essa crise, eu o faria. Mas essa é uma carta que só se pode jogar uma vez, e prefiro guardá-la para quando tiver uma boa mão. Lloyd era um político pragmático, pensou Jasper. Gostava disso. Mas Evie, não. – Eu acho que as pessoas devem se levantar e dizer a verdade – afirmou ela. – Sinto orgulho de ter uma filha assim – comentou Lloyd, sorrindo. – Espero que você passe a vida inteira pensando desse jeito. Mas agora preciso ir explicar a crise para os meus eleitores do East End. – Tchau, meninos. Até mais tarde – disse Daisy. O casal saiu. – Quem ganhou essa discussão? – perguntou Evie. Seu pai, pensou Jasper, de lavada; mas ficou de bico calado.
Foi dominado por uma grande ansiedade que George retornou ao centro de Washington. Até então, todos vinham partindo do pressuposto de que uma invasão de Cuba estaria fadada ao sucesso. Os mísseis FROG de curto alcance mudavam tudo: os soldados americanos agora teriam de enfrentar armas nucleares de combate. Talvez os Estados Unidos vencessem mesmo assim, mas a guerra seria mais árdua e custaria mais vidas, e o desfecho já não era uma certeza. Desceu do táxi na Casa Branca e deu uma passada na assessoria. Maria estava sentada à sua mesa. Ficou feliz ao constatar que ela tinha um aspecto bem melhor do que três dias antes. – Estou bem, obrigada – foi a resposta dela à sua pergunta. George sentiu o coração aliviado com uma pequena preocupação a menos, mas a maior de todas ainda lhe pesava. Ela estava se recuperando fisicamente, mas ele não sabia que danos emocionais poderiam estar sendo causados por seu caso de amor clandestino. Não pôde lhe fazer perguntas mais íntimas, pois ela estava acompanhada por um rapaz negro de paletó de tweed. – Este é Leopold Montgomery – apresentou. – Ele trabalha na Reuters. Veio buscar um release. – Pode me chamar de Lee – disse o jornalista. – Imagino que não haja muitos repórteres negros cobrindo Washington – comentou George. – Eu sou o único. – George Jakes trabalha com Bobby Kennedy – disse Maria. De repente, Lee ficou mais interessado. – Como ele é?
– O emprego é ótimo – respondeu George, esquivando-se da pergunta. – Eu o aconselho principalmente em relação aos direitos civis. Nós tomamos providências legais contra os estados do Sul que impedem negros de votar. – Mas nós precisamos de uma nova Lei de Direitos Civis. – Sem dúvida, irmão. – George se virou para Maria. – Não posso ficar muito tempo. Que bom que você melhorou. – Se estiver indo para o prédio da Justiça, vou com você – disse Lee. George costumava evitar a companhia de jornalistas, mas experimentou um sentimento de camaradagem com Lee. Assim como ele, o rapaz estava tentando conquistar seu lugar na branca Washington e por isso concordou. – Obrigada por vir me ver – falou Maria. – Lee, me ligue se precisar de algum esclarecimento sobre o release, por favor. – Claro. Os dois rapazes saíram do prédio e seguiram pela Pensylvannia Avenue. – O que tem no tal release? – quis saber George. – Apesar de os navios terem revertido o curso, os soviéticos continuam construindo bases de lançamento de mísseis em Cuba, e a todo o vapor. George pensou nas fotografias de reconhecimento aéreo que tinha acabado de ver. Sentiuse tentado a contar a Lee sobre elas. No entanto, por mais que fosse gostar de entregar um furo de reportagem a um jovem jornalista negro, seria uma quebra de sigilo, e ele resistiu ao impulso. – Acho que é isso mesmo – falou, evasivo. – E o governo não parece estar fazendo nada. – Como assim? – É óbvio que a quarentena não está funcionando, e o presidente não está fazendo mais nada. George ficou mordido. Embora não tivesse um cargo importante, fazia parte do governo, e sentiu-se injustamente acusado. – No discurso que fez segunda-feira na TV , o presidente disse que a quarentena era só o começo. – Quer dizer que ele vai fazer mais coisas? – Obviamente foi isso que ele quis dizer. – Mas o quê? Ao perceber que estava sendo pressionado para dar informações, George sorriu. – Preste atenção e verá – respondeu. Quando voltou ao Departamento de Justiça, encontrou Bobby enfurecido. Gritar e atirar objetos pela sala não faziam o estilo do secretário. Sua fúria era fria e cruel, e as pessoas costumavam comentar sobre seu aterrorizante olhar azul. – De quem ele está com tanta raiva? – perguntou George a Dennis Wilson.
– Tim Tedder. Ele despachou três equipes de infiltração para Cuba com seis homens cada uma. E há outras aguardando para partir. – Hein? Por quê? Quem mandou a CIA fazer isso? – Faz parte da Operação Mangusto e, aparentemente, ninguém os mandou parar. – Mas eles sozinhos podem começar a Terceira Guerra Mundial! – É por isso que Bobby está espumando pela boca. Além do mais, eles mandaram uma dupla de agentes explodir uma mina de cobre, e infelizmente perderam o contato com os dois. – Ou seja, os caras a esta altura devem estar na cadeia, desenhando a planta baixa da estação da CIA em Miami para seus interrogadores soviéticos. – Pois é. – Que hora idiota para fazer uma coisa dessas... por vários motivos – continuou George. – Cuba está se preparando para uma guerra. A segurança de Fidel Castro, que já é sempre boa, agora deve estar em alerta máximo. – Exatamente. Bobby vai participar de uma reunião da Mangusto no Pentágono daqui a alguns minutos, e imagino que vá crucificar Tedder. George não foi com Bobby ao Pentágono. Para seu grande alívio, continuava não sendo incluído nas reuniões da Mangusto; a ida a La Isabela o convencera de que a operação toda era criminosa, e ele não queria ter mais nada a ver com aquilo. Sentou-se à sua mesa de trabalho, mas não conseguiu se concentrar. De toda forma, os direitos civis tinham passado para o final da lista de prioridades: ninguém estava pensando na igualdade para os negros naquela semana. George sentia que a crise estava fugindo ao controle do presidente. A contragosto, Kennedy ordenara a interceptação do Marucla. A operação tinha corrido bem, mas o que iria acontecer da próxima vez? E Cuba agora tinha armas nucleares de combate; os Estados Unidos ainda poderiam invadir o país, mas o preço seria alto. Além disso, só para acrescentar mais um elemento de risco, a CIA estava agindo por conta própria. Embora todos estivessem loucos para esfriar os ânimos, o que estava acontecendo era justamente o contrário: uma escalada terrível na crise, algo que ninguém desejava. Mais tarde no mesmo dia, Bobby voltou do Pentágono trazendo a matéria de uma agência de notícias. – Que diabo é isto aqui? – perguntou a seus assessores. Começou a ler o texto: – “Em reação à aceleração da campanha de construção de bases de lançamento de mísseis em Cuba, esperam-se novas ações iminentes do presidente Kennedy...” – Ele ergueu a mão com o dedo apontado para cima. – “... segundo fontes próximas ao secretário da Justiça.” – Correu os olhos pela sala. – Quem deu com a língua nos dentes? – Puta que pariu... – xingou George. Todos olharam para ele. – George, tem alguma coisa para me dizer? – indagou Bobby. George quis que um buraco no chão o engolisse.
– Lamento muito – falou. – Eu só citei o discurso do presidente, que disse que a quarentena era só o começo. – Não se diz esse tipo de coisa a um jornalista! Você deu a ele uma nova matéria. – Puxa, agora eu sei disso. – E escalou a crise exatamente no momento em que estávamos todos tentando acalmar os ânimos. A próxima matéria vai especular sobre que ação o presidente tem em mente. Aí, se ele não fizer nada, vão chamá-lo de hesitante. – Sim, secretário. – Por que você falou com esse tal jornalista? – Eu o conheci na Casa Branca, e ele me acompanhou pela Pensylvannia Avenue. – Essa matéria é da Reuters? – perguntou Dennis Wilson. – É, por quê? – Então deve ter sido Lee Montgomery quem escreveu. George grunhiu. Sabia o que estava prestes a acontecer. Wilson estava fazendo o incidente parecer pior de propósito. – Por que acha isso, Dennis? – perguntou Bobby. Como Wilson hesitou, o próprio George respondeu à pergunta: – Montgomery é negro. – Foi por isso que você falou com ele? – quis saber o secretário. – Acho que eu não quis mandá-lo se catar. – Da próxima vez, é exatamente isso que você vai dizer a ele e a qualquer outro jornalista que tentar arrancar alguma coisa de você. Independentemente da cor da pele. As palavras “da próxima vez” deixaram George aliviado: queriam dizer que ele não seria demitido. – Obrigado. Não vou esquecer. – É melhor não esquecer mesmo. Bobby entrou em sua sala. – Você se safou – comentou Wilson. – Que sorte. – É. Obrigado pela sua ajuda, Dennis – respondeu George, sarcástico. Voltaram todos ao trabalho. George mal conseguia acreditar no que tinha feito. Sem querer, ele também tinha posto lenha na fogueira. Ainda estava deprimido quando a telefonista lhe passou uma chamada interurbana de Atlanta. – Oi, George. É Verena Marquand. – Tudo bem? – disse ele, alegre por ouvir a voz dela. – Estou preocupada. – Você e o mundo todo. – O Dr. King me pediu para ligar para você e perguntar o que está acontecendo. – Vocês provavelmente sabem tanto quanto nós. – Ainda abalado com a bronca do chefe,
ele não queria correr o risco de cometer outra indiscrição. – Quase tudo já saiu nos jornais. – Nós vamos mesmo invadir Cuba? – Só o presidente sabe. – Vai haver uma guerra nuclear? – Nem o presidente sabe. – Estou com saudades, George. Queria poder sentar com você e ficar só conversando, sabe? Isso o deixou espantado. Ele não a conhecia muito bem em Harvard, e fazia seis meses que os dois não se viam. Não sabia que ela gostava tanto dele a ponto de sentir saudades. Não soube o que responder. – O que eu digo ao Dr. King? – Diga que... – George não completou a frase. Pensou em todas as pessoas que cercavam o presidente Kennedy: os generais de cabeça quente que desejavam uma guerra imediata, os homens da CIA sempre bancando James Bond, os jornalistas reclamando de inação quando o presidente se mostrava cauteloso. – Diga a ele que o homem mais inteligente dos Estados Unidos está no comando, e que não podemos pedir nada melhor do que isso. – Está bem – falou Verena, e desligou. George se perguntou quanto acreditava no que acabara de dizer. Queria odiar Jack Kennedy pelo modo como ele tratara Maria, mas será que haveria alguém melhor para lidar com aquela crise? Não. Não conseguia pensar em mais ninguém que tivesse a combinação certa de coragem, sensatez, autocontrole e calma. No final da tarde, depois de atender a um telefonema, Wilson avisou a todos na sala: – Vamos receber uma carta de Kruschev. Vai chegar no Departamento de Justiça. – O que diz a carta? – quis saber alguém. – Não muito, até agora – respondeu Wilson. Olhou para seu bloco de anotações. – Ainda não recebemos tudo. “Vocês nos ameaçam com guerra, mas sabem muito bem que o mínimo que receberiam como resposta seria ter de enfrentar as mesmas consequências...” A carta foi entregue na nossa embaixada em Moscou logo antes das dez da manhã de hoje, no horário daqui. – Dez da manhã?! – exclamou George. – Agora são seis da tarde! Por que tanta demora? Wilson respondeu em um tom condescendente e cansado, como se estivesse farto de explicar procedimentos básicos a principiantes: – Nosso pessoal em Moscou precisa traduzir a carta para o inglês, depois criptografá-la, depois transmiti-la. Quando ela é recebida aqui em Washington, os funcionários do Departamento de Estado precisam quebrar o código e, por fim, datilografá-la. E cada palavra precisa ser verificada três vezes antes de o presidente tomar qualquer atitude. É um processo demorado. – Obrigado – agradeceu George.
Wilson podia ser um babaca convencido, mas era bem informado. Apesar de ser sexta à noite, ninguém iria voltar para casa. A mensagem de Kruschev chegou em pedaços. Como se podia prever, a parte mais importante ficou para o fim. Se os Estados Unidos prometessem não invadir Cuba, “a necessidade da presença de nossos especialistas militares deixaria de existir”. Aquilo era uma proposta de acordo, sem dúvida uma notícia boa. Mas o que significava exatamente? Era de se presumir que os soviéticos retirariam suas armas nucleares de Cuba; nada menos do que isso teria qualquer significado. Mas como os Estados Unidos poderiam prometer jamais invadir a ilha? Será que o presidente americano sequer cogitaria atar as próprias mãos dessa maneira? Kennedy relutaria em desistir por completo da esperança de se livrar de Fidel, pensou George. E como o mundo iria reagir a um acordo assim? Será que iria considerá-lo uma vitória de política externa para Kruschev? Ou diria que Kennedy tinha forçado os soviéticos a recuarem? Aquilo era uma boa notícia ou não? George não conseguia chegar a uma conclusão. Larry Mawhinney passou pela quina da porta sua cabeça de cabelos à escovinha. – Cuba agora tem armas nucleares de curto alcance – falou. – Estamos sabendo. A CIA descobriu ontem. – Isso significa que precisamos ter a mesma coisa – disse Larry. – Como assim? – A força de invasão a Cuba precisa estar equipada com armas nucleares de combate. – Ah, é? – Claro! O Estado-Maior Conjunto está prestes a exigi-las. Você mandaria nossos homens para a batalha menos bem armados do que o inimigo? George entendeu que Larry tinha certa razão, mas a consequência era terrível. – Quer dizer que agora qualquer guerra em Cuba vai ser um conflito nuclear desde o início? – É isso aí – confirmou Larry, e foi embora.
No fim do dia, George passou na casa da mãe. Jacky fez café e lhe serviu um prato de biscoitos. Ele não pegou nenhum. – Estive com Greg ontem – falou. – Como ele está? – Igualzinho. Só que... só que me disse que eu fui a melhor coisa que já aconteceu na vida dele. – Vejam só! – exclamou Jacky em tom descrente. – De onde ele tirou isso? – Queria que eu soubesse quanto se orgulha de mim.
– Ora, ora. Ainda existe algo de bom dentro daquele homem. – Quanto tempo faz que você não vê Lev e Marga? Ela estreitou os olhos, desconfiada. – Por que está me perguntando isso? – Você se dá bem com minha avó Marga. – É porque ela ama você. Uma mãe sente carinho por quem ama seu filho. Quando você for pai, vai entender. – Faz mais de um ano que vocês não se veem... desde a formatura em Harvard. – É verdade. – Você não trabalha nos fins de semana. – O clube fecha aos sábados e domingos. Quando você era pequeno eu precisava do fim de semana livre, para ficar com você quando não estava na escola. – A primeira-dama levou Caroline e John Junior para Glen Ora. – Ah... e você acha que eu devo ir para a minha casa de campo na Virgínia passar uns dias montando meus cavalos, suponho. – Você poderia ir visitar Marga e Lev em Buffalo. – Passar o fim de semana em Buffalo? – estranhou Jacky. – Tenha dó, meu filho! Eu teria que passar o sábado inteiro no trem de ida e o domingo inteiro no de volta. – Você poderia ir de avião. – Não tenho dinheiro para isso. – Eu pago a passagem. – Ai, meu pai do céu... Você acha que os russos vão nos bombardear neste fim de semana, é isso? – Essa possibilidade nunca esteve tão próxima. Vá a Buffalo. Jacky terminou o café, levantou-se e foi até a pia lavar a xícara. – E você? – perguntou depois de alguns instantes. – Eu tenho que ficar aqui e fazer o que puder para evitar que isso aconteça. Decidida, ela fez que não com a cabeça. – Eu não vou a Buffalo. – Eu ficaria muito aliviado se você fosse, mãe. – Se quiser sentir alívio, reze a Deus. – Você conhece aquele ditado árabe? “Confie em Alá, mas amarre o seu camelo.” Se você for a Buffalo, eu rezo. – Como é que você sabe que os russos não vão bombardear Buffalo? – Não tenho como ter certeza, mas eu diria que a cidade é um alvo secundário. E pode ser que esteja fora do alcance dos mísseis de Cuba. – Que defesa fraca para um advogado. – Estou falando sério, mãe. – Eu também. E você é um bom filho por se importar com sua mãe desse jeito. Mas agora
me escute: desde os 16 anos, meu único propósito na vida foi criar você. Se tudo o que fiz for dizimado em uma explosão nuclear, não quero estar viva depois para ficar sabendo. Vou ficar onde você estiver. – Ou nós dois vamos sobreviver, ou vamos morrer juntos. – O Senhor dá e o Senhor toma– disse Jacky, citando a Bíblia. – Bendito seja o nome do Senhor.
Segundo Volodya, o tio de Dimka que trabalhava na Inteligência do Exército Vermelho, os Estados Unidos tinham mais de duzentos mísseis nucleares capazes de atingir a URSS. Os americanos achavam que a União Soviética tinha cerca da metade dessa quantidade de mísseis intercontinentais, dizia ele. Na verdade, o país tinha exatamente 42. E alguns eram obsoletos. Quando os Estados Unidos não responderam imediatamente a sua proposta de acordo, Kruschev ordenou que até os mísseis mais antigos e menos confiáveis fossem preparados para lançamento. Nas primeiras horas da manhã de sábado, Dimka telefonou para a área de teste de mísseis em Baikonur, no Casaquistão. A base militar localizada ali tinha dois R-7 Semyorkas de cinco motores, foguetes obsoletos do mesmo tipo usado para lançar o Sputnik no espaço, cinco anos antes, que atualmente estavam sendo preparados para explorar o planeta Marte. Dimka anulou a expedição a Marte. Os Semyorkas estavam incluídos nos 42 mísseis intercontinentais da URSS, sendo, portanto, necessários para a Terceira Guerra Mundial. Ele deu ordem aos cientistas para que equipassem os dois foguetes com ogivas nucleares e os abastecessem. A preparação para o lançamento levaria vinte horas. Os Semyorkas usavam um propulsor líquido instável, e não podiam ser mantidos em alerta por mais de um dia. Ou seriam usados naquele fim de semana, ou nunca mais. Os foguetes Semyorka muitas vezes explodiam na decolagem. Se isso não acontecesse, contudo, podiam alcançar Chicago. Cada um seria equipado com uma bomba de 2,8 megatons. Se uma dessas bombas acertasse o alvo, causaria destruição em um raio de 12 quilômetros a partir do centro de Chicago, das margens do lago até Oak Park, segundo o atlas de Dimka. Após ter certeza que o oficial encarregado havia entendido as ordens, ele foi dormir.
CAPÍTULO DEZENOVE
O telefone acordou Dimka. Seu coração disparou: seria a guerra? Quantos minutos lhe restariam de vida? Ele arrancou o fone do gancho. Era Natalya. Sempre a primeira a par das notícias, como de hábito, ela disse: – Chegou um despacho telegráfico de Pliyev. O general Pliyev era o comandante das forças soviéticas em Cuba. – Como assim? O que diz? – Eles acham que os americanos vão atacar hoje ao raiar do dia, horário de lá. Ainda estava escuro em Moscou. Dimka acendeu a luz da cabeceira e checou as horas. Eram oito da manhã; já deveria estar no Kremlin. No entanto, ainda faltavam cinco horas para o dia nascer em Cuba. Seu coração se acalmou um pouco. – Como eles sabem? – Não vem ao caso – retrucou Natalya. – O que vem ao caso, então? – Vou ler a última frase da mensagem para você. “Nós decidimos que, na eventualidade de um ataque norte-americano às nossas instalações, vamos empregar todas as formas disponíveis de defesa aérea.” Eles vão usar armas nucleares. – Não podem fazer isso sem a nossa permissão! – Mas é exatamente o que estão propondo. – Malinovski não vai deixar. – Não aposte tanto nisso. Dimka soltou um palavrão entre os dentes. Às vezes os militares pareciam de fato desejar um holocausto nuclear. – Encontro você na cantina. – Me dê meia hora. Dimka tomou uma ducha rápida. Sua mãe lhe ofereceu café da manhã e, como ele não quis, lhe deu um pedaço de pão preto de centeio para levar. – Não esqueça que hoje tem uma festa para o seu avô – lembrou-lhe ela. Grigori estava fazendo 74 anos e haveria um grande almoço no seu apartamento. Dimka prometera levar Nina. Eles estavam planejando surpreender a todos com o anúncio de seu noivado. Só que, se os americanos atacassem Cuba, não haveria festa. Quando ele estava saindo, Anya o deteve: – Fale a verdade. O que vai acontecer? Ele lhe deu um abraço. – Sinto muito, mãe. Eu não sei.
– Sua irmã está lá em Cuba. – Eu sei. – Ela está bem na linha de tiro. – Mãe, os americanos têm mísseis intercontinentais. Todos nós estamos na linha de tiro. Ela o abraçou, em seguida virou as costas. Dimka foi de moto até o Kremlin. Quando chegou ao prédio do Presidium, Natalya o aguardava na cantina. Assim como ele, tinha se vestido às pressas e parecia um pouco desarrumada, mas seus cabelos desalinhados caíam sobre o rosto de um jeito que ele achou encantador. Preciso parar de pensar assim, ordenou a si mesmo; vou fazer a coisa certa: casarme com Nina e criar nosso filho. Perguntou-se o que Natalya diria caso lhe contasse a novidade. Mas não era hora para isso. Tirou do bolso o pedaço de pão de centeio. – Seria bom arrumar um pouco de chá – falou. As portas da cantina estavam abertas, mas ninguém estava servindo ainda. – Ouvi dizer que os restaurantes nos Estados Unidos ficam abertos quando as pessoas querem comer e beber, não quando os funcionários querem trabalhar – comentou Natalya. – Você acha que é verdade? – Deve ser só propaganda – respondeu Dimka, sentando-se. – Vamos redigir um rascunho de resposta para Pliyev – disse ela, abrindo um bloco de notas. Enquanto mastigava, Dimka se concentrou na questão. – O Presidium deveria proibir Pliyev de disparar armas nucleares sem ordens expressas de Moscou. – Eu preferiria proibi-lo de sequer equipar os foguetes com ogivas. Aí as armas não poderiam ser disparadas por acidente. – Bem pensado. Yevgeny Filipov entrou. Estava usando um suéter marrom sob um paletó de terno cinza. – Bom dia, Filipov. Veio me pedir desculpas? – perguntou Dimka. – Desculpas por quê? – Você me acusou de ter deixado vazar o segredo de nossos mísseis em Cuba. Disse inclusive que eu deveria ser preso. Agora sabemos que os mísseis foram fotografados por um avião espião da CIA. Você obviamente me deve profusas desculpas. – Deixe de ser ridículo – disparou Filipov. – Não achávamos que as fotos de grande altitude tiradas por eles mostrariam algo tão pequeno quanto um míssil. O que vocês dois estão tramando? Natalya respondeu a verdade: – Estamos conversando sobre o despacho telegráfico que Pliyev mandou hoje de manhã. – Já falei com Malinovski sobre isso. – Filipov trabalhava para o ministro da Defesa. – Ele concorda com Pliyev.
Dimka ficou horrorizado. – Pliyev não pode ser autorizado a começar a Terceira Guerra Mundial por iniciativa própria! – Ele não vai começar nada. Vai defender nossas tropas de uma agressão americana. – O nível da resposta não pode ser uma decisão local. – Talvez não haja tempo para nada além disso. – Pliyev precisa ganhar tempo, não dar início a um confronto nuclear. – Malinovski acha que precisamos proteger as armas que temos em Cuba. Se elas forem destruídas pelos americanos, isso enfraquecerá nossa capacidade de defender a URSS. Nisso Dimka não tinha pensado. Uma parte significativa do arsenal nuclear soviético estava agora em Cuba. Os americanos poderiam aniquilar todas aquelas armas caras e deixar os soviéticos seriamente enfraquecidos. – Nada disso – discordou Natalya. – Nossa estratégia deve se basear em não usar armas nucleares. Por quê? Porque nós temos poucas em comparação com os americanos. – Ela se inclinou para a frente por cima da mesa da cantina. – Escute aqui, Yevgeny. Se houver uma guerra nuclear de verdade, são eles que vão ganhar. – Tornou a se sentar. – Então nós podemos nos gabar, podemos esbravejar, podemos ameaçar, mas não podemos disparar nossas armas. Para nós, uma guerra nuclear é suicídio. – Não é assim que o ministro da Defesa vê a situação. Natalya hesitou. – Você fala como se uma decisão já tivesse sido tomada. – E foi. Malinovski aceitou a proposta de Pliyev. – Kruschev não vai gostar – comentou Dimka. – Pelo contrário, ele concordou – disse Filipov. Dimka percebeu que o fato de ter ficado acordado até tão tarde na noite anterior o fizera perder as conversas do início da manhã. Isso o punha em situação de desvantagem. Levantouse. – Vamos – disse a Natalya. Os dois saíram da cantina. Enquanto esperavam o elevador, ele tornou a falar: – Que droga. Precisamos reverter essa decisão. – Tenho certeza de que Kosygin vai querer discutir isso no Presidium de hoje. – Por que não datilografa o rascunho da ordem que redigimos e sugere que Kosygin leve para a reunião? Vou tentar convencer Kruschev. – Está bem. Eles se separaram, e Dimka foi até a sala de Kruschev. O primeiro-secretário estava lendo as traduções de matérias de jornais ocidentais, cada qual grampeada ao texto original. – Você já leu o artigo de Walter Lippmann? Lippmann era um colunista americano sindicalizado, de opiniões liberais. Dizia-se que era próximo de Kennedy.
– Não. – Dimka ainda não tinha olhado os jornais. – Ele está propondo uma troca: nós retiramos nossos mísseis de Cuba, e eles retiram os deles da Turquia. É uma mensagem de Kennedy para mim! – Lippmann é só um jornalista... – Não, nada disso. Ele é um porta-voz do presidente. Dimka duvidava que a democracia americana funcionasse assim, mas não falou nada. O premiê prosseguiu: – Ou seja, se propusermos essa troca, Kennedy vai aceitar. – Mas nós já pedimos outra coisa: que eles prometam não invadir Cuba. – Então vamos deixar Kennedy na dúvida! Com certeza vamos deixá-lo confuso, pensou Dimka, mas era esse o jeito de Kruschev. Para que ser coerente? Isso apenas facilitava a vida do inimigo. Dimka mudou de assunto: – Durante o Presidium, vai haver perguntas sobre a mensagem de Pliyev. Dar a ele o poder de disparar armas nucleares... – Não se preocupe – disse Kruschev com um aceno desdenhoso. – Os americanos não vão atacar agora. Estão até conversando com o secretário-geral da ONU. Eles querem a paz. – Claro – respondeu Dimka, deferente. – Contanto que o senhor saiba que o assunto vai surgir. – Sim, sim, eu sei. Minutos depois, os líderes soviéticos se reuniram entre as paredes revestidas de madeira da Sala do Presidium. Kruschev abriu a reunião com um longo discurso argumentando que a hora para um ataque americano havia passado. Então expôs o que chamou de Proposta de Lippmann, causando pouco entusiasmo ao redor da mesa, mas tampouco qualquer oposição. A maioria dos presentes percebia que o líder precisava conduzir a diplomacia à sua própria maneira. Kruschev estava tão animado com a nova ideia que ditou sua carta para Kennedy ali mesmo, durante a reunião, enquanto os outros escutavam. Então ordenou que o texto fosse lido na Rádio Moscou. Assim, a embaixada americana poderia encaminhá-la para Washington sem a demorada obrigação de criptografá-la. Por fim, Kosygin levantou a questão da mensagem de Pliyev. Seu argumento foi que o controle das armas nucleares deveria permanecer em Moscou, e ele leu em voz alta o rascunho da ordem ao general redigido por Dimka e Natalya. – Sim, sim, podem mandar – falou Kruschev, impaciente, e Dimka respirou mais aliviado. Uma hora depois, Dimka subia com Nina o elevador da Casa do Governo. – Vamos tentar esquecer nossas preocupações por um instante – disse ele. – Nada de falar sobre Cuba. Estamos indo para uma festa, vamos nos divertir. – Por mim está ótimo – concordou Nina. Eles foram para o apartamento dos avós de Dimka. Katerina os recebeu na porta, de
vestido vermelho. Dimka ficou espantado ao ver que a saia era na altura dos joelhos, como mandava a última moda ocidental, e que sua avó ainda tinha pernas esguias. Ela havia morado no Ocidente quando o marido trabalhava no circuito diplomático e aprendera a se vestir com mais estilo do que a maioria das soviéticas. Com a curiosidade despudorada dos mais velhos, Katerina olhou Nina de cima a baixo. – Você está ótima – falou, e Dimka se perguntou por que o tom de voz da avó soava um pouco estranho. Nina interpretou aquilo como um elogio. – Obrigada, a senhora também. Onde arrumou esse vestido? Ela os conduziu até a sala. Dimka se lembrava de frequentar aquele apartamento quando criança. Sua avó sempre lhe oferecia um doce tradicional russo chamado belev, à base de maçã. Ficou com água na boca: bem que gostaria de comer um pedaço agora. Katerina lhe pareceu um pouco instável sobre os sapatos de salto. Sentado na espreguiçadeira em frente à TV como era seu costume, apesar de o aparelho estar desligado, Grigori já tinha aberto uma garrafa de vodca. Talvez por isso sua mulher estivesse um pouco trôpega. – Parabéns, vô – falou Dimka. – Beba alguma coisa – disse Grigori. Dimka precisava tomar cuidado. Bêbado, não teria serventia alguma para Kruschev. Esvaziou de uma talagada só o copo de vodca que o avô lhe entregou, em seguida pousou-o fora do seu alcance, para evitar que ele tornasse a enchê-lo. Anya já tinha chegado para ajudar a mãe e veio da cozinha trazendo uma bandeja de biscoitos salgados com caviar vermelho. Não havia herdado o senso de estilo de Katerina, e sempre parecia roliça e à vontade, não importava o que estivesse vestindo. Ela cumprimentou Nina com um beijo. A campainha tocou, e Volodya entrou acompanhado pela família. Aos 48 anos, tinha os cabelos curtos já grisalhos. Estava de uniforme: podia ser convocado a qualquer momento. Sua mulher Zoya, que entrou logo atrás, beirava os 50, mas ainda era uma pálida deusa russa. Atrás do casal vieram seus dois filhos adolescentes, Kotya e Galina. Ele apresentou Nina. Tanto Volodya quanto Zoya a cumprimentaram calorosamente. Olhou em volta: para o casal de idade avançada que havia iniciado aquilo tudo; para a mãe sem graça e o belo tio de olhos azuis; para a linda tia e os primos adolescentes; e para a voluptuosa ruiva que estava prestes a desposar. Aquela era a sua família, a parte mais preciosa de tudo o que iria se perder naquele dia caso seus temores se concretizassem. Todas aquelas pessoas viviam a menos de um quilômetro e meio do Kremlin. Se os americanos disparassem armas nucleares contra Moscou naquela noite, estariam todas mortas pela manhã, com os miolos cozidos, os corpos esmagados, a pele estorricada. E seu único consolo era que não precisaria pranteá-los, pois também estaria morto. Todos beberam em homenagem ao aniversário do patriarca.
– Queria que meu irmãozinho Lev estivesse aqui... – comentou Grigori. – E Tanya – completou Anya. – Lev Peshkov não é mais tão pequeno assim, pai – falou Volodya. – Ele tem 67 anos e é milionário nos Estados Unidos. – Será que ele tem netos lá? – Nos Estados Unidos, não – respondeu Volodya. Dimka sabia que era fácil para a Inteligência do Exército Vermelho descobrir aquele tipo de coisa. – Greg, o filho ilegítimo de Lev que é senador, continua solteiro. Mas sua filha legítima, Daisy, mora em Londres e tem dois filhos adolescentes, um menino e uma menina, mais ou menos da mesma idade de Kotya e Galina. – Quer dizer então que eu tenho sobrinhos-netos britânicos – refletiu Grigori com um ar satisfeito. – Como eles se chamam? – David e Evie – falou Volodya. – Era eu que deveria ter ido para os Estados Unidos, sabiam? Mas na última hora dei minha passagem para Lev. Ele começou a relembrar o passado. Todos já tinham ouvido aquela história, mas ouviram de novo, felizes em deixá-lo dizer o que quisesse no dia do seu aniversário. Depois de alguns instantes, Volodya chamou Dimka de lado e perguntou: – E o Presidium de hoje de manhã, como foi? – Eles ordenaram a Pliyev que não disparasse nenhuma arma nuclear sem ordens expressas do Kremlin. Volodya deu um grunhido desanimado. – Que perda de tempo... – Por quê? – perguntou Dimka, espantado. – Não vai fazer diferença. – Está dizendo que Pliyev vai desobedecer às ordens? – Acho que qualquer comandante faria isso. Você nunca participou de nenhuma batalha, não é? – Volodya perscrutou o sobrinho com os penetrantes olhos azuis. – Quando está sendo atacado, lutando pela própria vida, você se defende com qualquer coisa que aparecer pela frente. É visceral, não dá para controlar. Se os americanos invadirem Cuba, nossas forças lá vão partir com tudo para cima deles, independentemente das ordens de Moscou. – Puta merda! Se o tio estivesse certo, todos os esforços daquela manhã teriam sido em vão. A história de Grigori já havia terminando, e Nina tocou o braço de Dimka. – Agora talvez seja uma boa hora. Dimka tomou a palavra e se dirigiu aos parentes reunidos: – Agora que já honramos o aniversário do meu avô, tenho um comunicado a fazer. Silêncio, por favor. – Ele esperou os adolescentes pararem de falar. – Pedi Nina em casamento, e ela disse sim.
Todos deram vivas. Uma nova rodada de vodca foi servida, mas dessa vez ele conseguiu não beber. Anya lhe deu um beijo. – Muito bem, filho. Ela não queria se casar... até conhecer você! – Quem sabe vou ter meus próprios bisnetos em breve? – brincou Grigori, e piscou o olho para Nina de forma exagerada. – Pai, não constranja a pobre moça! – protestou Volodya. – Constranger? Que bobagem. Nina e eu somos amigos. – Não precisa se preocupar – comentou Katerina, a essa altura já embriagada. – Ela já está grávida. – Mãe! – exclamou Volodya. – Uma mulher sabe essas coisas – disse Katerina, dando de ombros. Então era por isso que sua avó tinha olhado Nina de cima a baixo com tanta atenção quando eles haviam entrado, pensou Dimka. Viu Volodya e Zoya trocarem um olhar: seu tio arqueou uma sobrancelha, Zoya meneou a cabeça de leve, e Volodya formou um breve “ah!” com os lábios. Anya exibia uma expressão chocada. – Mas você me falou que... – começou a dizer para Nina. – Eu sei – interrompeu Dimka. – Nós pensávamos que Nina não pudesse ter filhos. Mas os médicos estavam errados! Grigori ergueu mais um brinde. – Um viva aos médicos que erram! Eu quero um menino, Nina, um bisneto para perpetuar a dinastia dos Peshkov-Dvorkin! Ela sorriu. – Farei o possível, Grigori Sergueievitch. Anya continuava com ar preocupado. – Os médicos erraram? – A senhora sabe como são os médicos, eles nunca admitem que erraram – falou Nina. – Disseram que é um milagre. – Só espero estar vivo para conhecer meu bisneto – falou Grigori. – Os americanos que vão para o inferno! – E bebeu mais um pouco. Kotya, adolescente de 16 anos, entrou na conversa: – Por que os americanos têm mais mísseis do que nós? Quem respondeu foi Zoya: – Em 1940, quando nós, cientistas, começamos a trabalhar com energia nuclear e dissemos ao governo que ela poderia ser usada para criar uma bomba superpoderosa, Stalin não acreditou. Então o Ocidente passou na frente da URSS e continua na frente até hoje. É isso que acontece quando os governos não ouvem os cientistas. – Mas não repita na escola o que a sua mãe está dizendo, ouviu bem? – acrescentou
Volodya. – Que importância tem isso? – indagou Anya. – Stalin matou metade de nós, e agora Kruschev vai matar a outra metade. – Anya! – repreendeu Volodya. – Não na frente das crianças! – Estou com pena de Tanya – continuou ela, ignorando as reprimendas do irmão. – Lá em Cuba, esperando os americanos atacarem... – Ela começou a chorar. – Queria ter visto minha linda menina de novo – falou, as lágrimas escorrendo subitamente pelas faces. – Mais uma vezinha só, antes de morrermos.
Na manhã de sábado, os Estados Unidos estavam prontos para atacar Cuba. Larry Mawhinney deu os detalhes a George na Sala de Crise no subsolo da Casa Branca. Kennedy chamava aquilo lá de pocilga, pois achava o recinto apertado. Mas isso era porque tinha sido criado em casas espaçosas; o conjunto de salas era maior do que o apartamento de George. Segundo Mawhinney, a Força Aérea tinha 576 aviões, em cinco bases diferentes, prontos para o ataque aéreo que transformaria Cuba em uma terra devastada e fumegante. O Exército havia mobilizado 150 mil soldados para a invasão que ocorreria em seguida. A Marinha tinha 26 destróieres e três porta-aviões rondando a ilha. Ele informou isso tudo com orgulho, como se fosse um feito pessoal seu. Na opinião de George, Mawhinney estava falando com uma desenvoltura excessiva. – Nenhuma dessas coisas vai adiantar nada contra mísseis nucleares – comentou. – Felizmente, nós também temos os nossos mísseis – respondeu o outro. Como se isso resolvesse a situação. – E como exatamente eles são disparados? – quis saber George. – Quero dizer, o que o presidente precisa fazer, fisicamente? – Ligar para a sala do Estado-Maior Conjunto, no Pentágono. O telefone dele no Salão Oval tem um botão vermelho que faz a ligação na hora. – E o que ele precisa dizer? – Ele tem uma pasta preta com uma série de códigos que deve usar. Carrega essa pasta por todo lado. – E aí... – É automático. Existe um programa chamado Plano Operacional Único Integrado. Nossos bombardeiros e mísseis decolam com cerca de três mil armas nucleares em direção a milhares de alvos no bloco comunista. – Mawhinney fez um gesto de quem amassa. – Riscados do mapa – falou, com deleite. George não estava acreditando muito naquela atitude. – E eles fazem a mesma coisa conosco.
Mawhinney fez cara de contrariado. – Olhe aqui, se nós atacarmos primeiro, podemos destruir a maioria das armas nucleares deles antes que saiam do chão. – Mas não é provável que ataquemos primeiro, porque não somos bárbaros e não queremos dar início a uma guerra nuclear que vai matar milhões de pessoas. – É aí que vocês, políticos, erram. O jeito de ganhar é atacando primeiro. – Mesmo que façamos o que vocês querem, nós só vamos destruir a maioria das armas deles, você disse. – Obviamente não vamos conseguir dar cabo de todas. – Então, aconteça o que acontecer, os Estados Unidos vão sofrer um ataque nuclear. – Guerra não é um piquenique – disse Mawhinney, zangado. – Se evitarmos a guerra, poderemos continuar a fazer piqueniques. Larry olhou para o relógio. – ComEx às dez – falou. Os dois saíram da Sala de Crise e subiram para a Sala do Gabinete. Os conselheiros mais velhos do presidente estavam se reunindo ali com seus assessores. Kennedy chegou alguns minutos depois das dez. Era a primeira vez que George o via desde o aborto de Maria. Encarou o presidente com novos olhos: aquele homem de meia-idade, vestido com um terno escuro risca de giz, tinha trepado com uma jovem e a deixado ir ao médico fazer um aborto sozinha. George sentiu uma onda de raiva pura e corrosiva. Naquele momento, poderia ter matado Jack Kennedy. Ao mesmo tempo, o presidente não parecia mau. Estava carregando nas costas as preocupações do mundo inteiro, e George, mesmo a contragosto, também sentiu uma pontada de empatia. Como de hábito, McCone, diretor da CIA, iniciou a reunião com um resumo de inteligência. Com seu costumeiro tom soporífero, deu notícias assustadoras o bastante para manter todos bem acordados. Cinco bases de mísseis de médio alcance em Cuba estavam agora inteiramente operacionais. Cada uma tinha quatro mísseis, de modo que havia agora vinte armas nucleares apontadas para os Estados Unidos e prontas para serem disparadas. Pelo menos uma delas devia ter por alvo aquele prédio, pensou George, sombrio, e sentiu a barriga se contrair de medo. McCone sugeriu uma vigilância permanente das bases. Oito jatos da Marinha estavam prontos para decolar de Key West e sobrevoar as bases de lançamento em baixa altitude. Outros oito fariam o mesmo circuito à tarde. Quando escurecesse, voltariam e lançariam sobre o local sinais luminosos. Além disso, os voos de reconhecimento em grande altitude dos U-2 iriam continuar. George se perguntou de que iria adiantar tudo aquilo. Os sobrevoos talvez conseguissem detectar alguma atividade pré-lançamento, mas o que os Estados Unidos poderiam fazer em relação a isso? Mesmo que os bombardeiros americanos decolassem imediatamente, não
conseguiriam chegar a Cuba antes de os mísseis serem lançados. Havia também outro problema. Além dos mísseis nucleares apontados para os Estados Unidos, o Exército Vermelho em Cuba tinha mísseis terra-ar destinados a abater aeronaves. Todas as 24 baterias desses mísseis estavam operacionais, informou McCone, e seu equipamento de radar já fora ligado. Ou seja: aviões americanos que sobrevoassem Cuba seriam agora identificados e selecionados como alvos. Um assessor entrou na Sala do Gabinete com uma comprida folha de papel arrancada de um teletipo e a entregou a Kennedy. – É da Associated Press em Moscou – falou o presidente, e começou a ler o texto em voz alta: – O premiê Kruschev disse ontem ao presidente Kennedy que vai retirar suas armas ofensivas de Cuba se os Estados Unidos retirarem seus foguetes da Turquia. – Ele não disse isso – falou Mac Bundy, conselheiro de segurança nacional. George ficou tão confuso quanto os outros. A carta de Kruschev na véspera exigia que os Estados Unidos prometessem não invadir Cuba; não falava nada sobre a Turquia. Será que a Associated Press tinha cometido algum erro? Ou seria aquele mais um dos truques habituais do premiê russo? – Talvez ele esteja prestes a mandar outra carta – sugeriu Kennedy. No fim das contas, foi isso que aconteceu, e nos minutos seguintes novas notícias deixaram a situação mais clara: Kruschev estava fazendo uma proposta inteiramente nova, que havia divulgado na Rádio Moscou. – Ele nos colocou em situação delicada – disse Kennedy. – A maioria das pessoas consideraria essa proposta bem razoável. A ideia não agradou a Mac Bundy. – Quem é “a maioria das pessoas”, presidente? – Acho que vocês vão ter dificuldades para explicar por que nós queremos realizar ações militares hostis em Cuba quando eles estão dizendo: “Se vocês tirarem os seus da Turquia, nós tiramos os nossos de Cuba.” Acho que esse é um ponto muito delicado. Bundy defendeu que se voltasse à primeira proposta de Kruschev. – Por que seguir por esse caminho se ele nos ofereceu aquele outro nas últimas 24 horas? Impaciente, Kennedy falou: – Porque essa é a posição nova e mais recente deles... além de ser pública. A imprensa ainda não sabia sobre a carta de Kruschev, mas aquela nova proposta tinha sido por meio da mídia. Bundy insistiu. Os aliados americanos na OTAN se sentiriam traídos se os Estados Unidos trocassem mísseis, afirmou. Bob McNamara, secretário de Defesa, expressou o assombro e o medo que todos eles sentiam: – Nós recebemos uma proposta na carta e agora temos outra diferente. Como podemos negociar com alguém que muda a proposta antes de termos tido uma chance de responder?
Ninguém soube dizer.
No sábado, os flamboyants das ruas de Havana desabrocharam com flores vermelho-vivo feito manchas de sangue no céu. De manhã bem cedo, Tanya foi ao mercado e, desanimada, providenciou mantimentos para o fim do mundo: carne defumada, latas de leite, queijo processado, um pacote de cigarros, uma garrafa de rum e pilhas novas para sua lanterna. Embora o dia mal houvesse raiado, já havia uma fila, mas ela só precisou esperar quinze minutos, o que não era nada para alguém acostumado com as filas de Moscou. Um ar de apocalipse pairava sobre as ruas estreitas da cidade antiga. Os habaneros já não brandiam machadinhas nem cantavam o hino nacional. Em vez disso, juntavam areia em baldes para apagar incêndios, colavam papel nas vidraças para minimizar os estilhaços, arrastavam sacos de farinha. Tinham feito a besteira de desafiar seu vizinho superpoderoso e agora seriam punidos. Deveriam ter pensado melhor. Será que estavam certos? Seria a guerra inevitável? Tanya tinha certeza de que nenhum líder mundial desejava realmente isso, nem mesmo Fidel, que estava começando a soar quase como um maluco. Mas mesmo assim poderia haver guerra. Pensou com pessimismo nos acontecimentos de 1914. Na época, ninguém queria uma guerra também, mas aí o imperador austríaco tinha visto a independência da Sérvia como uma ameaça, da mesma forma que Kennedy agora via a independência de Cuba como ameaça. E, quando a Áustria declarou guerra à Sérvia, as peças de dominó foram caindo com uma inevitabilidade mortal até metade do planeta estar envolvida no conflito mais cruel e sangrento que o mundo já vira. Com certeza isso poderia ser evitado agora, ou não? Pensou em Vasili Yenkov, confinado em um campo de prisioneiros na Sibéria. Ironicamente, ele tinha chances de sobreviver a um conflito nuclear. A punição talvez salvasse sua vida. Ela torceu por isso. De volta ao apartamento, ligou o rádio, sintonizado em uma das estações americanas transmitidas da Flórida. A notícia era que Kruschev tinha feito uma proposta a Kennedy: iria retirar os mísseis de Cuba se Kennedy fizesse o mesmo na Turquia. Tanya olhou para o leite enlatado com uma sensação de alívio avassaladora. Talvez no fim das contas não fosse precisar daqueles mantimentos de emergência. Disse a si mesma que era cedo demais para se sentir segura. Será que Kennedy iria aceitar? Será que se mostraria mais sensato do que o ultraconservador imperador Francisco José, da Áustria? Um carro buzinou lá fora. Tempos antes, ela havia combinado ir com Paz de avião até a ponta oriental de Cuba nesse dia, para escrever sobre uma bateria antiaérea soviética. Não esperava que ele fosse mesmo aparecer, mas ao olhar pela janela viu sua caminhonete Buick
parada junto ao meio-fio, com os limpadores de para-brisa se esfalfando para dar conta de uma tempestade tropical. Pegou a capa de chuva e saiu. – Você viu o que o nosso líder fez? – perguntou ele, zangado, assim que ela entrou no carro. A raiva dele a espantou. – Está falando sobre a proposta da Turquia? – Ele nem sequer nos consultou! Paz arrancou com o carro e pôs-se a dirigir depressa demais pelas ruas estreitas. Tanya nem pensara se os líderes cubanos deveriam participar ou não das negociações. Ao que tudo indicava, Kruschev tampouco achara essa cortesia necessária. O mundo via aquela crise como um conflito de superpotências, mas é claro que os cubanos ainda achavam que era tudo por causa deles. E aquela tênue proposta de paz lhes parecia uma traição. Ela precisava acalmar Paz, nem que fosse para evitar um acidente na estrada. – O que teria dito se Kruschev tivesse consultado você? – Que não vamos trocar a nossa segurança pela da Turquia! – respondeu ele, batendo no volante. As armas nucleares não tinham proporcionado segurança a Cuba, refletiu ela. Muito pelo contrário: a soberania do país estava agora mais ameaçada do que nunca. Mas decidiu não enfurecer ainda mais o general mencionando isso. Ele guiou o Buick até uma pista de pouso nos arredores de Havana, onde o avião os aguardava: uma aeronave de transporte leve soviética Yakovlev modelo Yak-16, movida a hélice. Tanya a observou com interesse. Nunca tivera a intenção de se tornar correspondente de guerra, mas, para evitar parecer ignorante, tinha se esforçado bastante para aprender coisas que os homens sabiam, sobretudo a identificar aeronaves, tanques e navios. Aquela era a versão militar do Yak, constatou, com uma metralhadora instalada em uma torreta semiesférica no topo da fuselagem. Os dois compartilharam a cabine de dez lugares com dois majores do 32o Regimento Aéreo de Caça, o GIAP; ambos trajavam as camisas quadriculadas chamativas e as calças largas de boca estreita fornecidas aos soldados soviéticos em uma canhestra tentativa de fazê-los passar por cubanos. A decolagem foi excessivamente emocionante: era temporada de chuvas no Caribe, e os ventos também estavam fortes. Quando eles conseguiam vislumbrar a terra lá embaixo pelas brechas nas nuvens, tudo o que viam era uma colagem de retalhos marrons e verdes toda riscada por linhas tortas de estradas de terra. O aviãozinho passou duas horas sendo sacudido pela tempestade. Então o céu clareou, com a rapidez característica das mudanças de tempo nos trópicos, e eles aterrissaram sem sobressaltos perto da cidade de Banes. Foram recebidos por um coronel do Exército Vermelho chamado Ivanov, que já estava informado sobre Tanya e a matéria que ela estava escrevendo. Ele os levou de carro até uma base de mísseis antiaéreos, aonde chegaram às dez da manhã, horário de Cuba.
A base tinha o formato de uma estrela de seis pontas, com o centro de comando no meio e os pontos de lançamento nas extremidades. Ao lado de cada lançador havia um reboque, em cima do qual estava montado um único míssil terra-ar. Os soldados tinham um ar desolado dentro de suas trincheiras alagadas. No posto de comando, oficiais observavam atentamente telas verdes de radar que emitiam bipes monótonos. Ivanov os apresentou ao major responsável pela bateria, visivelmente tenso; sem dúvida teria preferido não receber a visita de VIPs em um dia como aquele. Alguns minutos depois de chegarem, uma aeronave estrangeira foi localizada entrando no espaço aéreo cubano em grande altitude, uns 300 quilômetros a oeste, e foi identificada como Alvo No 33. Como todos falavam russo, Tanya precisou traduzir para Paz. – Deve ser um avião espião U-2 – comentou ele. – Nenhum outro voa tão alto. Tanya ficou desconfiada. – Isso é uma simulação? – perguntou a Ivanov. – Estávamos planejando simular alguma coisa para vocês verem – respondeu ele. – Mas isso é para valer. Ele parecia tão aflito que Tanya acreditou. – Não vamos abater o avião, vamos? – indagou. – Não sei. – Que arrogância a desses americanos! – esbravejou Paz. – Sobrevoar nossas terras assim! O que eles diriam se um avião cubano sobrevoasse Fort Bragg? Imaginem como ficariam indignados! O major ordenou um alerta de combate, e os soldados soviéticos começaram a transferir os mísseis dos reboques para os lança-mísseis e a conectar os cabos. Fizeram tudo de modo calmo, eficiente, e Tanya supôs que tivessem treinado muitas vezes. Um capitão acompanhava em um mapa o curso do U-2. Cuba era uma ilha comprida e estreita, com 1.250 quilômetros de leste a oeste, mas apenas com 80 a 160 quilômetros de norte a sul. Tanya viu que a aeronave espiã já tinha avançado 80 quilômetros pelo espaço aéreo do país. – A que velocidade esses aviões voam? – perguntou. – Oitocentos quilômetros por hora – respondeu Ivanov. – E a que altitude? – Vinte e um mil metros, mais ou menos o dobro da altitude normal de um jato comercial. – Podemos mesmo atingir a essa distância um alvo que esteja se movendo tão depressa? – Não precisamos que o tiro seja certeiro. O míssil tem um fusível de proximidade. Quando chega perto, explode. – Eu sei que selecionamos esse avião como um alvo, mas, por favor, me diga que não vamos mesmo atirar nele. – O major está ligando para pedir instruções.
– Mas os americanos podem retaliar! – A decisão não é minha. O radar acompanhava o avião intruso, e um tenente leu em uma tela as informações de altitude, velocidade e distância. Do lado de fora do posto de comando, os artilheiros soviéticos ajustaram a mira dos lança-mísseis no curso do Alvo No 33. O U-2 atravessou Cuba de norte a sul, em seguida virou para leste e passou a seguir o litoral, chegando cada vez mais perto de Banes. Do lado de fora, os lança-mísseis giraram devagar nas bases pivotantes para acompanhar o alvo, feito lobos farejando o ar. – E se eles dispararem por acidente? – perguntou Tanya a Paz. Não era nisso que ele estava pensando. – Ele está fotografando as nossas bases! – falou. – Essas fotos vão ser usadas para guiar seu Exército quando nos invadirem... o que pode acontecer em poucas horas. – É muito mais provável a invasão acontecer se vocês matarem um piloto americano! Com o telefone colado à orelha, o major observava o radar que controlava os disparos. Ergueu os olhos para Ivanov e disse: – Eles estão confirmando com Pliyev. Tanya sabia que Pliyev era o comandante em chefe soviético em Cuba, mas com certeza ele não podia abater um avião americano sem autorização de Moscou, ou podia? O U-2 chegou à ponta no extremo sul de Cuba e virou, seguindo agora o litoral norte. Banes ficava perto da costa. O curso do U-2 faria o avião passar bem em cima da cidade. A qualquer momento, porém, ele poderia virar para o norte, e a uma velocidade de cerca de seiscentos metros por segundo sairia rapidamente de alcance. – Derrubem ele! – falou Paz. – Agora! Todos o ignoraram. O avião virou para o norte. Embora a 20 mil metros de altitude, estava quase exatamente acima da bateria antiaérea. Só mais alguns segundos, por favor, pensou Tanya, rezando para não sabia que deus. Ela, Paz e Ivanov encaravam o major, que encarava a tela. O único barulho no recinto eram os bipes do radar. O major então disse: – Sim, senhor. Qual teria sido a ordem? Um adiamento ou a destruição? Sem largar o telefone, o major disse a seus homens no recinto: – Destruam o alvo No 33. Disparem dois mísseis. – Não! – gritou Tanya. Um rugido soou. Ela olhou pela janela. Um míssil se desprendeu do lança-mísseis e partiu em um piscar de olhos. Outro o seguiu instantes depois. Tanya levou uma das mãos à boca, com medo de vomitar de tanto medo. Os mísseis levariam cerca de um minuto para alcançar uma altitude de vinte mil metros.
Algo poderia sair errado, pensou. Os mísseis poderiam apresentar algum defeito, desviar da trajetória e aterrissar no mar sem fazer mal a ninguém. Na tela do radar, dois pontinhos foram se aproximando de um pontinho maior. Tanya rezou para que errassem. Os pontinhos avançaram depressa, e então os três convergiram. Paz soltou um grito de triunfo. Então uma chuva de pontinhos menores se espalhou pela tela. Ao telefone, o major disse: – Alvo No 33 destruído. Tanya olhou pela janela como se esperasse ver o U-2 despencando até o chão. – Na mosca. Parabéns a todos – disse o major, mais alto. – E o que será que Kennedy vai fazer conosco agora? – indagou Tanya.
No sábado à tarde, George ainda estava cheio de esperança. As mensagens de Kruschev eram incoerentes e confusas, mas o líder soviético parecia estar buscando uma saída para a crise. E Kennedy certamente não queria a guerra. Com boa vontade de ambos os lados, um fracasso parecia inconcebível. A caminho da Sala do Gabinete, George passou na assessoria de imprensa e encontrou Maria em sua mesa. Ela usava um vestido cinza elegante, mas tinha uma faixa rosa-choque na cabeça, como para anunciar ao mundo que estava feliz e bem. George resolveu não perguntar como estava de fato: era óbvio que ela não queria ser tratada como uma inválida. – Muito ocupada? – indagou. – Estamos esperando a resposta do presidente a Kruschev – disse ela. – Como a proposta soviética foi feita em público, partimos do princípio de que a resposta americana será divulgada para a imprensa. – É essa a reunião da qual vou participar com Bobby – falou George. – Nós vamos redigir um rascunho da resposta. – Trocar os mísseis de Cuba pelos da Turquia parece uma proposta razoável – observou ela. – Ainda mais se levarmos em conta que talvez salve a vida de todos nós. – Amém. – Quem fala assim é a sua mãe. Ele riu e seguiu seu caminho. Na Sala do Gabinete, conselheiros e assessores já haviam começado a se reunir para o ComEx das quatro da tarde. No meio de um grupo de assessores militares junto à porta, Larry Mawhinney dizia: – Não podemos aceitar que deem a Turquia de bandeja aos comunistas! Em seu íntimo, George deu um grunhido. Os militares viam tudo como um combate de vida ou morte. Na verdade, ninguém iria entregar a Turquia de bandeja. A proposta era retirar de lá
alguns mísseis que de toda forma já estavam obsoletos. Será que o Pentágono se oporia mesmo a um acordo de paz? Ele mal conseguia acreditar. Kennedy entrou e foi ocupar seu lugar de sempre, no meio da mesa comprida, com as grandes janelas logo atrás. Todos tinham cópias de um rascunho de resposta, redigido um pouco mais cedo, dizendo que os Estados Unidos não podiam conversar sobre os mísseis da Turquia antes de a crise de Cuba estar resolvida. O presidente não tinha gostado dos termos usados na sua resposta a Kruschev. – Estamos rejeitando a mensagem dele – reclamou. “Ele” sempre se referia ao premiê russo; Kennedy via aquela situação como um conflito pessoal. – Não vai dar certo. Ele vai anunciar que nós rejeitamos a proposta. Nossa posição deveria ser que estamos muito dispostos a discutir essa questão, contanto que tenhamos uma indicação firme de que eles cessaram suas operações em Cuba. – Isso realmente apresenta a Turquia como uma moeda de troca – comentou alguém. – É esse o meu medo – disse o conselheiro de segurança nacional, Mac Bundy. Com os cabelos já ralos embora tivesse apenas 49 anos, ele vinha de uma família republicana e tinha tendência a ser linha-dura. – Se dermos a entender à OTAN e nossos outros aliados que queremos fazer essa troca, aí estaremos mesmo encrencados. George desanimou: Bundy estava se posicionando junto com o Pentágono e contra um acordo. – Se dermos mostras de estar trocando a defesa da Turquia por uma ameaça a Cuba, vamos ter de enfrentar um declínio radical na eficácia da aliança – prosseguiu Bundy. O problema era esse, percebeu George. Os mísseis Júpiter podiam até ser obsoletos, mas simbolizavam a determinação americana de resistir ao avanço do comunismo. Kennedy não se deixou convencer pelas palavras de Bundy. – É nesse sentido que a situação está avançando, Mac. – A justificativa para essa mensagem é que esperamos que ela seja rejeitada – insistiu Bundy. Sério?, pensou George. Tinha quase certeza de que o presidente e seu irmão não pensavam assim. – Estamos prevendo uma ação contra Cuba para amanhã ou depois – continuou Bundy. – Qual é nosso plano militar? Não era assim que George pensava que a reunião fosse correr. Eles deveriam estar falando sobre paz, não sobre guerra. Quem respondeu à pergunta foi McNamara, o menino-prodígio da Ford: – Um grande ataque aéreo que vai conduzir à invasão em si. – Ele então voltou a falar na Turquia: – Para minimizar a resposta soviética caso a OTAN apoie um ataque americano a Cuba, nós podemos tirar os mísseis Júpiter da Turquia antes do ataque a Cuba e avisar aos soviéticos. Desse modo, não acho que eles atacariam a Turquia. Que ironia, pensou George: para proteger a Turquia, era preciso retirar suas armas
nucleares. O secretário de Estado Dean Rusk, que ele considerava um dos homens mais inteligentes naquela sala, alertou: – Eles podem tentar alguma outra ação... em Berlim. George ficou impressionado ao ver que o presidente americano não podia atacar uma ilha do Caribe sem calcular as repercussões na Europa Oriental, a 8 mil quilômetros de distância. O mundo era mesmo um tabuleiro de xadrez para as duas superpotências. – Não estou preparado, neste momento, para recomendar ataques aéreos a Cuba – afirmou McNamara. – Só estou dizendo que agora precisamos começar a considerar a situação de modo mais realista. O general Maxwell Taylor, que havia conversado com o Estado-Maior Conjunto, tomou a palavra: – A recomendação deles é que o grande ataque, o Plano de Operação 312, ocorra o mais tardar na segunda-feira de manhã, a menos que até lá haja indícios irrefutáveis de que as armas ofensivas estão sendo desmanteladas... Sentados atrás de Taylor, Mawhinney e seus amigos exibiam um ar satisfeito. Igualzinho aos militares, pensou George: eles mal podiam esperar para começar o combate, ainda que este talvez significasse o fim do mundo. Rezou para que os políticos ali presentes não se deixassem guiar pelos soldados. – ... e que a execução desse plano de ataque seja seguida sete dias depois pela execução do 316, o plano de invasão – continuou Taylor. – Ora, que surpresa! – comentou Bobby Kennedy, sarcástico. Sonoras risadas soaram em volta da mesa. Todo mundo parecia achar as recomendações dos militares absurdamente previsíveis. George ficou aliviado. Mas a atmosfera tornou a ficar séria quando McNamara, após ler um bilhete entregue por um assessor, falou de repente: – O U-2 foi abatido. George arquejou. Sabia que um avião espião da CIA tinha interrompido o contato durante uma missão em Cuba, mas todos esperavam que fosse apenas uma pane de rádio e ele estivesse a caminho de casa. O presidente obviamente não fora informado sobre o avião desaparecido. – Um U-2 foi abatido? – indagou, com um traço de medo na voz. George sabia por que Kennedy estava tão consternado. Até então, as superpotências vinham se enfrentando de perto, mas haviam se atido a ameaças. Agora o primeiro tiro tinha sido disparado. Dali em diante, seria bem mais difícil evitar uma guerra. – Wright acabou de me dizer que o avião foi encontrado abatido – disse McNamara. O coronel John Wright trabalhava na Agência de Inteligência da Defesa. – O piloto morreu? – perguntou Bobby. Como muitas vezes acontecia, ele havia feito a pergunta mais importante.
– O corpo do piloto está dentro do avião – respondeu o general Taylor. – Alguém viu o piloto? – quis saber Kennedy. – Sim, presidente – retrucou Taylor. – Os destroços do avião estão no chão e o piloto morreu. Fez-se silêncio na sala. Aquilo mudava tudo. Um americano tinha morrido, abatido em Cuba por armas soviéticas. – Isso levanta a questão da retaliação – disse Taylor. Sem dúvida. O povo americano pediria vingança. George sentia a mesma coisa. De repente, desejou que o presidente lançasse o ataque aéreo maciço solicitado pelo Pentágono. Imaginou centenas de bombardeiros em formação cerrada, sobrevoando o Estreito da Flórida e lançando suas cargas mortíferas sobre Cuba qual uma chuva de granizo. Quis ver todos os lança-mísseis explodidos, todos os soldados soviéticos massacrados, Fidel Castro morto. Se Cuba inteira precisasse sofrer, que assim fosse: isso lhes ensinaria a não matar americanos. A reunião já durava duas horas e a sala estava enevoada de tanta fumaça de cigarro. O presidente anunciou um intervalo. Boa ideia, pensou George. Ele próprio com certeza precisava acalmar os nervos. Se os outros estivessem tão sedentos de sangue quanto ele, não estavam em condições de tomar nenhuma decisão racional. O motivo mais importante para o intervalo era que o presidente precisava tomar seu remédio. A maioria das pessoas sabia que Kennedy tinha problemas nas costas, mas poucos entendiam que ele travava uma batalha constante contra toda uma gama de doenças, entre as quais o mal de Addison e uma colite. Duas vezes por dia, os médicos lhe injetavam um coquetel de anabolizantes e antibióticos que lhe permitia continuar cumprindo suas funções. Com a ajuda do jovem e bem-disposto redator de discursos do presidente, Ted Sorensen, Bobby começou a refazer o rascunho da carta para Kruschev. Acompanhados por seus assessores, os dois foram para o escritório do presidente, uma sala abarrotada contígua ao Salão Oval. De caneta e bloco amarelo em punho, George ia anotando tudo o que Bobby lhe pedia. Com apenas duas pessoas debatendo o texto, o rascunho ficou pronto depressa. Os parágrafos mais importantes eram: 1. O senhor concorda em retirar esses sistemas de armamentos de Cuba sob a devida observação e supervisão da ONU e proceder, com as garantias apropriadas, à cessação de novos transportes de tais sistemas de armamentos para Cuba. 2. Nós, de nossa parte, concordamos – mediante a tomada de providências adequadas pela ONU para garantir a execução e a continuidade desses compromissos – (a) em cessar de imediato todas as operações de quarentena atualmente em curso e (b) em garantir que não haverá invasão a Cuba, e temos plena confiança de que outras nações do hemisfério ocidental estariam dispostas a fazer o mesmo. Os Estados Unidos estavam aceitando a primeira proposta de Kruschev. Mas e a segunda? Bobby e Sorensen decidiram dizer o seguinte: O efeito de tal acordo para apaziguar a tensão mundial nos permitiria trabalhar no
sentido de chegar a um arranjo mais geral relativo a “outros armamentos”, conforme proposto em sua segunda carta. Não era grande coisa, só uma sugestão de promessa de um debate futuro, mas decerto era o máximo que o ComEx iria permitir. Em seu íntimo, George se perguntou como aquilo poderia bastar. Entregou o rascunho manuscrito a uma das secretárias do presidente e lhe pediu que datilografasse o texto. Alguns minutos depois, Bobby foi convocado ao Salão Oval, onde um grupo menor estava se reunindo: o presidente, Dean Rusk, Mac Bundy e dois ou três outros, com seus assessores mais próximos. O vice-presidente Lyndon Johnson foi deixado de fora. Apesar de ser um político hábil, na opinião de George, seus modos grosseiros de texano incomodavam os refinados bostonianos que eram os irmãos Kennedy. O presidente queria que Bobby entregasse a carta pessoalmente ao embaixador soviético em Washington, Anatoly Dobrynin. Bobby e Dobrynin haviam tido várias reuniões informais nos últimos dias. Apesar de não irem com a cara um do outro, conseguiam conversar com franqueza, e tinham criado um canal bem útil, que evitava a burocracia de Washington. Em uma reunião cara a cara, talvez Bobby conseguisse elaborar melhor a sugestão de promessa para conversar sobre os mísseis da Turquia sem aprovação prévia do ComEx. Dean Rusk sugeriu que Bobby fosse um pouco mais longe com Dobrynin. Nas reuniões daquele dia, tinha ficado claro que na realidade ninguém fazia questão de que os mísseis Júpiter continuassem na Turquia. De um ponto de vista estritamente militar, eles eram inúteis. O problema era só de aparência: o governo turco e os outros aliados da OTAN ficariam bravos se os Estados Unidos trocassem aqueles mísseis em um acordo relacionado a Cuba. Rusk sugeriu uma solução que George julgou muito inteligente: – Proponha retirar os Júpiter depois... daqui a uns cinco ou seis meses, digamos. Assim poderemos fazer tudo com discrição, sem precisar da anuência dos nossos aliados, e intensificar a atividade de nossos submarinos nucleares no Mediterrâneo para compensar. Mas os soviéticos precisam prometer manter estrito segredo em relação a esse acordo. Apesar de surpreendente, era uma sugestão brilhante, pensou George. Todos concordaram com uma velocidade espantosa. Durante a maior parte do dia, as conversas do ComEx tinham se dispersado pelo mundo inteiro, mas aquele grupo menor ali no Salão Oval de repente estava demonstrando grande decisão. – Ligue para Dobrynin – pediu Bobby a George. Ele olhou para o relógio, e George fez o mesmo: eram 19h15. – Peça a ele para me encontrar no Departamento de Justiça daqui a meia hora. – E soltem a carta para a imprensa quinze minutos depois – completou o presidente. George entrou na sala das secretárias junto ao Salão Oval e tirou um fone do gancho. – Embaixada soviética, por favor – pediu à telefonista. O embaixador aceitou o encontro na mesma hora. George levou a carta datilografada para Maria e lhe disse que o presidente a queria
liberada para a imprensa às oito. Ela conferiu o relógio, ansiosa, e disse: – Certo, meninas, é melhor começarmos a trabalhar. Bobby e George saíram da Casa Branca e foram levados de carro até o Departamento de Justiça, a poucos quarteirões de distância. Com a soturna iluminação de fim de semana, as estátuas do Grande Hall pareciam espiá-los, desconfiadas. George explicou aos seguranças que uma visita importante chegaria dali a pouco para falar com Bobby. Subiram de elevador. George observou o chefe e pensou que ele estava com uma cara abatida; devia estar exausto, mesmo. Os ecos se propagavam pelos corredores vazios do imenso prédio. A cavernosa sala de Bobby estava mal iluminada, mas ele não se deu ao trabalho de acender outras luzes. Deixou-se afundar atrás da grande escrivaninha e esfregou os olhos. George olhou pela janela para os postes da rua. O centro de Washington era um belo parque cheio de monumentos e palácios, mas o resto da cidade era uma metrópole densamente povoada de cinco milhões de habitantes, a maioria negra. Será que ainda estaria de pé àquela mesma hora no dia seguinte? Já tinha visto fotos de Hiroshima: quilômetros de construções transformadas em entulho e os arredores cheios de sobreviventes queimados e mutilados, encarando sem entender o mundo irreconhecível à sua volta. Será que a capital americana estaria assim pela manhã? Dobrynin foi levado à sala de Bobby pontualmente às quinze para as oito. Aquele homem calvo de 40 e poucos anos obviamente adorava os encontros informais com o irmão do presidente. – Quero apresentar a alarmante situação atual do modo como o presidente a vê – disse Bobby. – Um de nossos aviões foi abatido sobre Cuba, e o piloto morreu. – Os seus aviões não têm o direito de sobrevoar Cuba – rebateu Dobrynin depressa. As conversas entre os dois podiam ser combativas, mas nesse dia a disposição do secretário de Justiça era outra. – Quero que o senhor entenda as realidades políticas da situação – disse ele. – O presidente está sofrendo agora uma forte pressão para reagir com um ataque. Não podemos pôr fim a esses sobrevoos; eles são nossa única maneira de acompanhar o estado de construção das suas bases de mísseis. Mas, se os cubanos abaterem nossos aviões, iremos revidar. Bobby revelou ao embaixador o conteúdo da carta de Kennedy ao premiê Kruschev. – E a Turquia? – indagou o embaixador, incisivo. Bobby respondeu com cautela: – Se esse for o único obstáculo para chegarmos ao acordo que acabo de mencionar, o presidente não vê nenhuma dificuldade intransponível. A maior dificuldade para o presidente é o debate público relativo a essa questão. Se essa decisão fosse anunciada, a OTAN viria abaixo. Precisamos de quatro a cinco meses para retirar os mísseis da Turquia. Mas é tudo
estritamente confidencial: pouquíssimas pessoas sabem que estou lhe dizendo isso. George observou com atenção a expressão de Dobrynin. Seria imaginação sua ou o diplomata estava disfarçando uma onda de animação? – George, dê ao embaixador os números de telefone que usamos para falar diretamente com o presidente. George pegou um bloquinho, anotou três números, rasgou a folha e a entregou a Dobrynin. Bobby se levantou, e o russo fez o mesmo. – Preciso de uma resposta amanhã – disse o secretário. – Não se trata de um ultimato; trata-se da realidade. Nossos generais estão loucos por uma briga. E não nos mandem uma daquelas cartas compridas do premiê que levam o dia inteiro para serem traduzidas. Precisamos de uma resposta clara e concisa de vocês, embaixador. E logo. – Muito bem – disse Dobrynin, e se retirou.
No domingo de manhã, o chefe da estação da KGB em Havana informou ao Kremlin que os cubanos agora consideravam um ataque americano inevitável. Dimka estava em uma dacha do governo em Novo-Ogaryevo, pitoresco vilarejo nos arredores de Moscou. Era uma construção pequena, cujas colunas brancas lhe conferiam certa semelhança com a Casa Branca de Washington. Estava se preparando para a reunião do Presidium que ocorreria dali a poucos minutos, ao meio-dia. Deu a volta na comprida mesa de carvalho com oito pastas informativas que deixara em frente a cada lugar. As pastas continham a tradução para o russo da última mensagem de Kennedy a Kruschev. Estava esperançoso. O presidente americano havia concordado com todas as demandas iniciais do premiê. Se a carta tivesse milagrosamente chegado minutos depois de enviada a primeira mensagem de Kruschev, a crise teria terminado em segundos. O atraso, porém, permitira ao líder fazer novas exigências. Além disso, infelizmente a carta de Kennedy não mencionava a Turquia de forma direta. Dimka não sabia se aquilo seria um empecilho para seu chefe. Os integrantes do Presidium já estavam se reunindo quando Natalya entrou. A primeira coisa em que Dimka reparou foi que seus cabelos encaracolados e compridos a deixavam mais sensual, e a segunda foi que ela parecia assustada. Vinha tentando conseguir alguns minutos a sós com ela para lhe contar sobre o noivado; sentia que não podia dar a notícia a ninguém no Kremlin antes que ela soubesse. Mais uma vez, no entanto, aquele não era um bom momento. Eles precisavam estar a sós. Natalya veio na direção dele e disse: – Aqueles imbecis abateram um avião americano. – Ah, não! Ela assentiu.
– Um U-2 espião. O piloto morreu. – Puta merda! Quem foi? Nós ou os cubanos? – Ninguém quer dizer, ou seja, provavelmente fomos nós. – Mas não houve ordem nenhuma! – Justamente. Era o que ambos temiam: que alguém começasse a atirar sem autorização. Os participantes estavam se acomodando com seus assessores logo atrás, como de hábito. – Vou avisá-lo – falou Dimka, mas, bem na hora em que disse isso, Kruschev entrou. Correu até o premiê e sussurrou a notícia em seu ouvido enquanto ele sentava. Kruschev não respondeu, mas não pareceu nada contente. Começou a reunião com o que obviamente era um discurso ensaiado: – Houve um tempo em que nós avançamos, como em outubro de 1917; mas em março de 1918, depois de assinar o tratado de Brest-Litovsk com os alemães, tivemos de recuar. Agora estamos diante do perigo de uma guerra e de uma catástrofe nuclear cujo possível desfecho é a destruição da raça humana. Para salvar o mundo, precisamos recuar. Aquilo estava parecendo o início de um discurso em prol de um acordo, pensou Dimka. Mas Kruschev logo começou a tecer considerações militares. O que a URSS deveria fazer se os americanos atacassem Cuba naquele mesmo dia, como os cubanos tinham certeza de que iria acontecer? O general Pliyev precisava ser instruído a defender as forças soviéticas em Cuba, mas deveria pedir permissão antes de usar armas nucleares. Enquanto o Presidium debatia essa possibilidade, Dimka foi chamado para fora da sala por sua secretária, Vera Pletner. Queriam falar com ele ao telefone. Natalya saiu também. O Ministério das Relações Exteriores tinha notícias que precisavam ser transmitidas a Kruschev imediatamente; sim, no meio da reunião. O embaixador soviético em Washington acabara de mandar uma mensagem por cabo. Bobby Kennedy lhe dissera que os mísseis da Turquia seriam retirados em quatro ou cinco meses, mas isso precisava ser mantido no mais estrito sigilo. – Que notícia boa! – exclamou Dimka, contente. – Vou avisá-lo agora mesmo. – Mais uma coisa – disse o funcionário do ministério. – Bobby enfatizou muito a necessidade de agir rápido. Parece que Kennedy está sofrendo forte pressão do Pentágono para atacar Cuba. – Foi o que pensamos. – Ele disse várias vezes que resta pouco tempo. Eles precisam da resposta hoje. – Vou dizer a ele. Dimka desligou. A seu lado, Natalya parecia curiosa; tinha faro para notícias. – Bobby Kennedy propôs retirar os mísseis da Turquia. Ela abriu um largo sorriso. – Acabou! Nós vencemos!
Então lhe deu um beijo na boca. Dimka voltou à sala de reuniões animadíssimo. Quem estava falando agora era Malinovski, ministro da Defesa. Dimka chegou perto do premiê e disse, em voz baixa: – Um cabo de Dobrynin. Ele recebeu uma proposta de Bobby Kennedy. – Pode dizer a todo mundo – ordenou o premiê, interrompendo Malinovski. Dimka repetiu o que havia escutado. Os integrantes do Presidium raramente sorriam, mas ele viu vários sorrisos largos se abrirem ao redor da mesa. Kennedy lhes dera tudo o que estavam pedindo! Aquilo era um triunfo para a União Soviética e uma vitória pessoal para Kruschev. – Precisamos aceitar quanto antes – disse o premiê. – Mandem chamar um estenógrafo. Vou ditar nossa carta de aceitação agora mesmo e ela deve ser lida na Rádio Moscou. – Quando devo ordenar a Pliyev para começar a desmontar os lança-mísseis? – perguntou Malinovski. Kruschev o encarou como se ele fosse estúpido. – Agora mesmo – respondeu.
Depois do Presidium, Dimka finalmente conseguiu ficar a sós com Natalya. Sentada em uma antessala, ela relia as anotações feitas durante a reunião. – Preciso lhe falar uma coisa – começou ele. Por algum motivo, embora não tivesse razão nenhuma para estar nervoso, sentiu um desconforto na barriga. – Pode falar. – Ela virou uma página do bloco. Sentindo que não tinha sua atenção, ele hesitou. Natalya pousou o bloco e sorriu. Era agora ou nunca. – Nina e eu ficamos noivos e vamos nos casar. Ela empalideceu e seu queixo caiu, de tão chocada que ficou. Dimka sentiu necessidade de dizer mais alguma coisa: – Contamos para minha família ontem. Na festa de aniversário do meu avô. – Pare de tagarelar, pensou, cale essa boca. – Ele fez 74 anos. Quando Natalya falou, as palavras dela o deixaram estarrecido: – E eu? Ele mal entendeu o que ela estava querendo dizer. – Você? A voz dela se transformou em um sussurro. – Nós passamos uma noite juntos. – E eu nunca vou me esquecer. – Dimka não estava entendendo nada. – Mas depois você
me disse que era casada. – Eu estava com medo. – De quê? Natalya parecia realmente abalada. Sua boca larga se contorceu em um esgar, quase como se ela estivesse sentindo alguma dor. – Por favor, não se case! – Por quê? – Porque eu não quero. Dimka estava atônito. – Por que você não me disse nada? – Eu não sabia o que fazer. – Mas agora é tarde. – Será? – Ela o encarou com um olhar de súplica. – Você pode romper o noivado... se quiser. – Nina está grávida. Natalya soltou um arquejo. – Você deveria ter dito alguma coisa... antes – falou Dimka. – E se eu tivesse dito? Ele balançou a cabeça. – Esta conversa não adianta nada. – É – disse ela. – Estou vendo que não. – Bom, pelo menos nós impedimos uma guerra nuclear. – É. Estamos vivos. Já é alguma coisa.
CAPÍTULO VINTE
O cheiro de café acordou Maria. Ela abriu os olhos. Sentado ao seu lado na cama, com vários travesseiros para apoiar as costas, o presidente tomava o desjejum enquanto lia a edição dominical do The New York Times. Estava usando um camisolão azul-claro igual ao seu. – Ué! – exclamou ela. Kennedy sorriu. – Você parece espantada. – Estou mesmo – respondeu ela. – Por continuar viva. Pensei que fôssemos morrer durante a noite. – Não foi desta vez. Maria fora dormir meio torcendo para que isso acontecesse. Estava apavorada com o fim daquele caso de amor. Sabia que os dois não tinham futuro. Se ele largasse a mulher, seria destruído politicamente; era impensável que fizesse isso por causa de uma negra. De toda forma, Kennedy não queria largar Jackie: amava-a, assim como os filhos. Era feliz no casamento. Maria era sua amante e, quando ele se cansasse dela, iria abandoná-la. Às vezes ela sentia que preferiria morrer antes disso, sobretudo se a morte pudesse acontecer enquanto estivesse ao lado dele, na cama, em um clarão de destruição nuclear que terminaria antes de qualquer um dos dois entender o que estava ocorrendo. Só que não falou nada disso: seu papel era deixá-lo feliz, não triste. Sentou-se na cama, beijou sua orelha, espiou o jornal por cima do seu ombro, pegou a xícara de café da mão dele e tomou um gole. Apesar de tudo, estava feliz por continuar viva. Ele não fizera nenhum comentário sobre o aborto. Era quase como se tivesse esquecido. Maria nunca tocara no assunto com ele. Ligara para Dave Powers para avisar que estava grávida e Dave lhe dera um telefone dizendo que pagaria o médico. A única vez que o presidente havia falado com ela sobre isso fora ao telefone depois da intervenção. Ele tinha coisas mais graves com que se preocupar. Pensou em puxar o assunto ela mesma, mas logo decidiu que era melhor não. Assim como Dave, queria proteger o presidente de qualquer aborrecimento, e não lhe dar novos fardos para suportar. Tinha certeza de que essa era a decisão correta, mas não podia evitar certa tristeza e até mesmo um pouco de mágoa pelo fato de não poder conversar com ele sobre algo tão importante. Tivera medo de o sexo doer depois da intervenção. Na noite anterior, contudo, quando Dave lhe pedira para ir à residência presidencial, ficara tão relutante em recusar o convite que acabara decidindo se arriscar; e tudo havia corrido bem – maravilhosamente bem, para dizer a verdade.
– É melhor eu me apressar – falou Kennedy. – Vou à missa hoje. Ele estava prestes a se levantar quando o telefone da cabeceira tocou. Ele atendeu. – Bom dia, Mac. Maria concluiu que ele estava falando com Mac Bundy, o conselheiro de segurança nacional. Pulou da cama e foi até o banheiro. O presidente com frequência atendia ao telefone na cama de manhã. Maria imaginou que as pessoas que lhe telefonavam não sabiam ou não ligavam se ele estivesse acompanhado. Sempre lhe poupava constrangimento retirando-se durante essas conversas, só para o caso de serem assuntos ultrassecretos. Espiou pela porta bem a tempo de vê-lo pôr o fone no gancho. – Ótimas notícias! – disse ele. – A Rádio Moscou anunciou que Kruschev vai desmontar os mísseis de Cuba e mandá-los de volta para a URSS. Maria teve de se controlar para não gritar de alegria. A crise tinha acabado! – Sinto-me um novo homem – falou Kennedy. Ela o abraçou e lhe deu um beijo. – Johnny, você salvou o mundo! Ele fez uma cara pensativa, e um minuto depois disse: – É, acho que salvei mesmo.
Em pé na sacada de sua casa, apoiada no parapeito de ferro forjado, Tanya respirava profundamente o úmido ar matinal de Havana quando o Buick de Paz apareceu e bloqueou completamente a rua estreita. Ele pulou do carro, olhou para cima, viu-a e gritou: – Você me traiu! – Como assim? – estranhou ela. – Traí como? – Você sabe. Paz era um homem arrebatado, passional, mas ela nunca o vira tão enfurecido e ficou feliz por ele não ter subido a escada até seu apartamento. Só que desconhecia o motivo de tanta raiva. – Não contei nenhum segredo nem fui para a cama com outro homem – falou. – Então tenho certeza de que não o traí! – Nesse caso, por que estão desmontando os lança-mísseis? – Estão mesmo? – Se fosse verdade, era o fim da crise. – Tem certeza? – Não finja que não sabe. – Não estou fingindo. Mas, se for verdade, estamos salvos. Com o rabo do olho, ela reparou que vizinhos abriam as janelas e portas para assistir ao bate-boca com descarada curiosidade. Ignorou-os. – Por que tanta raiva?
– Porque Kruschev fez um acordo com os ianques sem nem ao menos conversar com Fidel! Os vizinhos emitiram ruídos de reprovação. – É claro que eu não sabia – disse Tanya, irritada. – Você acha que Kruschev conversa comigo sobre essas coisas? – Ele mandou você para cá. – Não pessoalmente. – Ele conversa com o seu irmão. – Você acha mesmo que eu sou alguma espécie de emissária especial de Kruschev? – Por que acha que tenho seguido você por toda parte há meses? – Imaginei que fosse porque gostava de mim – disse ela, em tom mais baixo. As mulheres que escutavam emitiram ruídos afetuosos de empatia. – Você não é mais bem-vinda aqui – berrou ele. – Pode arrumar suas malas. Vai sair de Cuba agora mesmo. Hoje ainda! Com isso, ele pulou de volta no carro e foi embora a toda a velocidade. – Prazer em conhecê-lo – disse Tanya.
Dimka e Nina comemoraram naquela noite indo a um bar perto do apartamento dela. Ele estava decidido a esquecer a perturbadora conversa com Natalya. O que fora dito não mudava nada. Afastou aquilo para o fundo da mente. Eles tiveram uma rápida aventura que estava terminada. Ele amava Nina, e ela seria sua esposa. Comprou duas garrafas de cerveja russa fraca e sentou-se ao lado dela em um banco. – Nós vamos nos casar – falou, com afeto. – Quero que você use um lindo vestido. – Não quero muita mobilização – disse Nina. – Eu também não, mas isso talvez seja um problema – retrucou Dimka com a testa franzida. – Sou o primeiro da minha geração a se casar. Minha mãe e meus avós vão querer dar um festão. E a sua família? Sabia que o pai de Nina tinha morrido na guerra, mas sua mãe ainda era viva e havia um irmão uns dois anos mais novo. – Espero que minha mãe esteja bem o bastante para vir. A mãe dela morava em Perm, quase 1.500 quilômetros a leste de Moscou, mas algo dizia a Dimka que ela na verdade não desejava a sua presença. – E seu irmão? – Ele vai pedir uma licença, mas não sei se vai conseguir. – O rapaz estava no Exército Vermelho. – Não faço ideia de onde está alocado. Até onde sei, ele poderia estar em Cuba. – Vou descobrir – falou Dimka. – Tio Volodya pode mexer uns pauzinhos. – Não precisa ter trabalho. – Faço questão. Esse provavelmente vai ser meu único casamento!
– O que quer dizer com isso? – disparou ela. – Nada. – Ele tinha falado de brincadeira e ficou chateado por ter irritado a noiva. – Esqueça o que falei. – Acha que eu vou me divorciar de você como fiz com meu primeiro marido? – Eu disse justamente o contrário, não foi? O que deu em você? – Ele forçou um sorriso. – Nós deveríamos estar felizes hoje. Vamos nos casar, vamos ter um filho, e Kruschev salvou o mundo. – Você não entende. Eu não sou virgem. – Eu reparei. – Quer falar sério? – Está bem. – Um casamento, em geral, é quando dois jovens prometem se amar para sempre. Não se pode dizer isso duas vezes. Será que você não entende que tenho vergonha de estar fazendo isso de novo porque já fracassei uma vez? – Ah, sim. Agora que você explicou, eu entendi. – O comportamento de Nina era meio antiquado; afinal, várias pessoas se divorciavam nesses dias. Mas talvez fosse pelo fato de ela vir de uma cidade pequena. – Quer dizer que você quer uma comemoração adequada a um segundo casamento: sem promessas extravagantes, sem piadas de recém-casados, com uma compreensão adulta de que a vida nem sempre corre conforme o planejado. – Exatamente. – Bem, amada minha, se é isso que você quer, vou garantir que seja assim. – Vai mesmo? – O que faz você pensar que eu não iria? – Não sei – respondeu ela. – Eu às vezes esqueço como você é um homem bom.
Naquela manhã, no último ComEx da crise, George ouviu Mac Bundy inventar uma nova forma de descrever a divisão entre os conselheiros do presidente: – Todo mundo sabe quem foram os falcões e quem foram as pombas. – Pessoalmente, Bundy era um falcão. – Hoje foi o dia das pombas. Mas havia poucos falcões presentes naquela manhã: todos eram só elogios para a forma como Kennedy soubera lidar com a crise, mesmo alguns que pouco antes o haviam acusado de estar sendo perigosamente fraco, e que o haviam pressionado para envolver os Estados Unidos numa guerra. George reuniu coragem para brincar com o presidente: – Talvez o senhor agora deva solucionar o conflito de fronteira entre a Índia e a China, presidente. – Não acho que nenhum dos dois queira que eu faça isso, nem mais ninguém, aliás.
– Mas o senhor hoje pode tudo. Kennedy riu. – Vai durar uma semana, mais ou menos. Bobby Kennedy estava feliz com a perspectiva de passar mais tempo com a família. – Acho que até esqueci o caminho de casa – falou. Os únicos infelizes eram os generais. O Estado-Maior Conjunto, reunido no Pentágono para finalizar os planos do ataque a Cuba, estava uma fera e mandou um recado urgente para o presidente dizendo que a aceitação de Kruschev era um truque para ganhar tempo. Curtis LeMay afirmou que aquela era a maior derrota da história do país. Ninguém deu bola. George havia aprendido uma lição e sentia que levaria um tempo para digeri-la: as questões políticas estavam mais intimamente interligadas do que ele imaginara. Sempre pensara que problemas como Berlim e Cuba fossem distintos uns dos outros e tivessem pouco vínculo com questões como direitos civis ou o sistema público de saúde. Mas Kennedy não pudera lidar com a crise de Cuba sem pensar nas repercussões na Alemanha e, caso não tivesse conseguido contornar esse problema, as eleições legislativas iminentes teriam prejudicado seu programa doméstico e tornado impossível a aprovação de uma Lei de Direitos Civis. Tudo era conectado. Essa consciência tinha consequências para a carreira de George sobre as quais ele precisava refletir bastante. Terminado o ComEx, continuou de paletó e foi à casa da mãe. Era um dia ensolarado de outono, e as folhas já estavam vermelhas e douradas. Como adorava fazer, Jacky lhe preparou o jantar: bife com purê de batatas. O bife passou do ponto; ele não conseguia convencer a mãe a servir a carne malpassada, à francesa. Mesmo assim, saboreou a comida por causa do amor com que tinha sido preparada. Depois do jantar, ela lavou a louça, ele secou e os dois se aprontaram para ir ao culto noturno na Igreja Evangélica Betel. – Precisamos agradecer ao Senhor por ter nos salvado – disse ela, enquanto punha o chapéu em pé diante do espelho junto à porta. – Pode agradecer ao Senhor, mãe – retrucou George, bem-humorado. – Eu vou agradecer ao presidente Kennedy. – Por que não combinamos agradecer aos dois? – Aí tudo bem – disse ele, e os dois saíram.
CAPÍTULO VINTE E UM
O Conjunto Dançante de Joe Henry se apresentava regularmente nas noites de sábado no restaurante do Hotel Europa, em Berlim Oriental, onde tocava standards de jazz e canções de musical para os membros da elite da Alemanha Oriental e suas esposas. Apesar de não ser grande coisa como baterista, na opinião de Walli, Joe – cujo verdadeiro nome era Josef Heinried – sabia manter a batida, mesmo quando estava bêbado. Além disso, era alto funcionário do sindicato dos músicos, portanto não podia ser mandado embora. Joe chegou à entrada de serviço do hotel às seis da tarde, ao volante de um velho furgão Framo V901 preto, com a preciosa bateria toda protegida por almofadas na traseira. Enquanto ele ficava sentado no bar tomando cerveja, Walli se encarregava de levar a bateria até o palco, retirar cada peça dos respectivos estojos de couro e montar o instrumento do jeito que Joe gostava. A bateria era composta por um bumbo com pedal, dois ton-tons, uma caixa, um chimbal, um prato de ataque e um cowbell. Walli manuseava cada peça com a mesma delicadeza com que pegaria em ovos: aquela era uma bateria americana Slingerland que Joe havia ganhado de um GI no carteado na década de 1940, e ele jamais conseguiria comprar outra igual. O cachê era uma miséria, mas, como parte do acordo, Walli e Karolin tocavam no intervalo, durante vinte minutos, como a dupla Bobbsey Twins, e o mais importante de tudo: tinham carteirinhas de músicos sindicalizados, ainda que Walli, aos 17 anos, fosse jovem demais para entrar para o sindicato. Sua avó inglesa, Maud, tinha dado um muxoxo quando ele lhe dissera o nome do dueto. “Quem são vocês, Flossie e Freddie ou Bert e Nan? Ah, Walli, como você me faz rir!” Na verdade, Walli descobriu que os Bobbsey Twins não tinham nada a ver com os Everly Brothers: eram protagonistas de uma coleção de livros infantis antigos sobre as aventuras dos Bobbsey, família perfeita que tinha dois lindos casais de gêmeos de faces rosadas. Mesmo assim, ele e Karolin decidiram manter o nome. Joe era um idiota, mas Walli estava aprendendo mesmo assim. Ele sempre se certificava de que a banda tocasse alto o suficiente para não poder ser ignorada, mas não tão alto a ponto de as pessoas reclamarem que não conseguiam conversar. Deixava cada músico se destacar em um número, o que garantia profissionais felizes. Sempre abria com uma música conhecida, e gostava de terminar quando a pista de dança estava lotada, para deixar no público um gostinho de “quero mais”. Walli não sabia o que o futuro lhe reservava, mas estava bem certo do que queria: seria músico, líder de uma banda admirada e famosa, e iria tocar rock ’n’ roll. Talvez os comunistas viessem a suavizar sua atitude em relação à cultura americana e permitir os grupos de pop. Talvez o comunismo caísse. Ou então, a melhor de todas as alternativas: talvez Walli
arrumasse um jeito de ir para os Estados Unidos. Mas tudo isso estava bem distante no futuro. No momento, sua ambição era que os Bobbsey Twins conquistassem sucesso suficiente para ele e Karolin virarem músicos em tempo integral. Os integrantes da banda de Joe foram chegando enquanto ele montava a bateria, e começaram a tocar às sete em ponto. Os comunistas viam o jazz com ambivalência. Desconfiavam de tudo o que fosse americano, mas o fato de os nazistas terem banido o jazz tornava o ritmo antifascista. No fim das contas, permitiam que fosse tocado por ser muito popular. Como a banda de Joe não tinha vocalista, não havia problema em relação a letras que celebravam valores burgueses como “Top Hat, White Tie and Tails” ou “Puttin’ on the Ritz”. Karolin chegou logo depois, e a presença dela iluminou aqueles bastidores insalubres com um brilho semelhante ao de uma vela, que deu às paredes cinzentas um tom rosado e fez os cantos sujos desaparecerem nas sombras. Pela primeira vez, Walli tinha em sua vida algo tão importante quanto a música. Já tivera outras namoradas. Na verdade, elas apareciam sem que ele precisasse fazer grande esforço. Além disso, em geral haviam se mostrado dispostas a transar, de modo que, para ele, o sexo não era o sonho inatingível que era para a maioria de seus colegas de escola. Mas ele nunca tinha experimentado nada parecido com o amor e a paixão avassaladores que sentia por Karolin. – Nós pensamos igual, e às vezes até dizemos a mesma coisa – contara ele à avó. E Maud comentara: – Ah, sim. Almas gêmeas. Ele e Karolin podiam falar sobre sexo com a mesma naturalidade com que falavam sobre música, confidenciando um ao outro aquilo de que gostavam e aquilo de que não gostavam, embora não houvesse muita coisa de que ela não gostasse. A banda ainda iria tocar por mais uma hora. Walli e Karolin foram para a traseira do furgão de Joe e se deitaram. O bagageiro se transformou em um boudoir fracamente iluminado pelo brilho amarelado das luzes do estacionamento; as almofadas de Joe eram um divã de veludo, e Karolin, uma langorosa odalisca, abrindo as roupas para oferecer o corpo aos beijos de Walli. Tinham tentado transar de camisinha, mas nenhum dos dois gostava muito daquilo. Às vezes iam sem camisinha mesmo e Walli tirava na hora H, mas, segundo Karolin, isso não era muito seguro. Nessa noite, usaram as mãos. Depois de ele gozar no lenço de Karolin, ela lhe mostrou como lhe dar prazer, guiando seus dedos, e gozou com um gemido discreto que mais pareceu de surpresa. – Sexo com a pessoa amada é a segunda melhor coisa do mundo – dissera Maud ao neto. Por algum motivo, uma avó podia dizer coisas que a mãe não podia. – Se é a segunda, qual é a primeira? – perguntara ele.
– Ver nossos filhos felizes. – Achei que você fosse dizer “tocar ragtime” – comentara ele, fazendo Maud rir. Como sempre acontecia, ele e Karolin passaram do sexo à música sem intervalo, como se fossem uma coisa só. Walli lhe ensinou uma canção nova. Tinha um rádio no quarto de casa e costumava ouvir estações americanas que transmitiam de Berlim Ocidental, de modo que conhecia todas as canções mais famosas. Aquela se chamava “If I Had a Hammer”, sucesso do trio americano Peter, Paul e Mary. A batida era contagiante, e ele tinha certeza de que o público iria amar. Karolin tinha reservas quanto à letra, que falava sobre justiça e liberdade. – Nos Estados Unidos, as pessoas consideram Pete Seeger comunista por ter escrito essa letra! – disse Walli. – Acho que ela incomoda as autoridades em qualquer lugar. – E em quê isso ajuda a gente? – perguntou ela, prática e sem remorso. – Ninguém aqui vai entender a letra em inglês. – Está bem – cedeu ela, relutante. – Eu vou ter que parar com isso, mesmo – arrematou. Walli ficou chocado. – Como assim? Karolin ficou séria. Walli percebeu que ela havia guardado a má notícia para não estragar o sexo; tinha um autocontrole impressionante. – Meu pai foi interrogado pela Stasi – disse ela. Seu pai era supervisor em uma rodoviária. Não parecia se interessar por política, e era um suspeito improvável para a polícia secreta. – Por quê? – perguntou Walli. – Interrogado sobre o quê? – Sobre você. – Ai, cacete. – Disseram a ele que você é ideologicamente suspeito. – Qual é o nome do agente que interrogou seu pai? Hans Hoffmann, por acaso? – Não sei. – Aposto que sim. Se Hans não tivesse conduzido o interrogatório, com certeza devia ser o responsável por ele. – Eles disseram que, se eu continuar a ser vista em público cantando com você, papai vai perder o emprego. – E você por acaso precisa fazer o que os seus pais dizem? Já tem 19 anos. – Mas ainda moro com eles. – Karolin tinha terminado o ensino médio, mas estava fazendo um curso técnico de biblioteconomia. – De todo modo, não posso ser responsável pela demissão do meu pai. Walli ficou arrasado. Aquilo estragava o seu sonho. – Mas... mas nós somos ótimos! As pessoas adoram nossa música! – Eu sei. Sinto muito.
– Como é que a Stasi sabe que você canta? – Lembra aquele homem de boina que seguiu a gente na noite em que você me conheceu? Eu o vejo às vezes. – Você acha que ele me segue o tempo todo? – O tempo todo, não – respondeu ela, em voz mais baixa. As pessoas sempre baixavam a voz quando falavam na Stasi, mesmo que não houvesse ninguém por perto para escutar. – Talvez só de vez em quando. Mas acho que em algum momento ele deve ter reparado que eu estava com você e começado a me seguir até descobrir meu nome e endereço, e foi assim que chegaram ao meu pai. Walli se recusou a aceitar o que estava acontecendo. – Vamos para o Ocidente – falou. Karolin fez uma cara aflita. – Ai, meu Deus, quem me dera. – As pessoas fogem o tempo todo. Os dois já tinham conversado sobre isso muitas vezes. Os fugitivos atravessavam canais a nado, forjavam documentos, escondiam-se em caminhões de frutas e legumes ou simplesmente corriam até o outro lado da fronteira. Às vezes suas histórias eram contadas nas estações de rádio da Alemanha Ocidental; mais frequentemente, havia boatos de todo tipo. – E morrem o tempo todo, também. Apesar de ansioso para fugir, Walli também vivia atormentado pela possibilidade de Karolin se machucar durante a fuga, ou coisa pior. Os guardas de fronteira atiravam para matar. E o Muro não parava de mudar, tornando-se a cada dia mais intransponível. No início uma cerca de arame farpado, agora em muitos pontos era uma dupla barreira de placas de concreto com um largo espaço intermediário iluminado por refletores, patrulhado por cães e vigiado por torres. Havia até valas para tanques. Ninguém jamais tentara atravessar em um tanque, mas os guardas de fronteira com frequência fugiam para o outro lado. – Minha irmã fugiu – disse Walli. – Mas o marido dela ficou aleijado. Agora casados, Rebecca e Bernd viviam em Hamburgo, onde eram professores. Mas Bernd, que nunca chegara a se recuperar totalmente da queda, andava de cadeira de rodas. Suas cartas para Carla e Werner eram sempre atrasadas pelos censores, mas acabavam chegando. – De todo modo, aqui eu não quero ficar – disse Walli com decisão. – Vou passar a vida inteira cantando músicas aprovadas pelo Partido Comunista, e você vai virar bibliotecária para seu pai poder manter o emprego na rodoviária. Prefiro morrer. – O comunismo não pode durar para sempre. – Por que não? Já está durando desde 1917. E se tivermos filhos? – Por que está falando nisso? – indagou ela, incisiva. – Se ficarmos aqui, não seremos só nós que estaremos condenados a uma vida na prisão.
Nossos filhos também vão sofrer. – Você quer ter filhos? Walli não pretendia abordar esse assunto. Não sabia se queria filhos. Primeiro precisava salvar a própria vida. – Bom, aqui na Alemanha Oriental, não – respondeu. Nunca pensara nisso, mas depois de pronunciar as palavras teve plena certeza. Karolin ficou séria. – Então talvez a gente deva mesmo fugir. Mas como? Walli já tinha pensado em muitas possibilidades, mas tinha uma favorita. – Já viu o posto de controle perto da minha escola? – Nunca prestei atenção. – É usado por veículos que transportam mercadorias para Berlim Ocidental: carne, produtos de hortifrúti, essas coisas. O governo da Alemanha Oriental não gostava de alimentar Berlim Ocidental, mas, segundo o pai de Walli, precisava do dinheiro. – E daí? Nas suas fantasias, Walli já havia pensado em alguns detalhes. – A barreira naquele ponto é uma cancela de madeira com uns 15 centímetros de espessura. Você mostra os documentos e o guarda levanta a cancela para o seu caminhão passar. No pátio, eles inspecionam sua carga, e na saída tem outra cancela parecida. – Sim, lembro como é. Walli imprimiu à voz mais segurança do que de fato sentia: – Eu acho que um motorista que tivesse problemas com os guardas provavelmente poderia derrubar as duas cancelas. – Nossa, Walli! Que perigo! – Não existe um jeito seguro de fugir. – Você não tem caminhão. – Podemos roubar este furgão. Depois do espetáculo, Joe sempre ficava no bar enquanto Walli embalava a bateria e a guardava de volta no furgão. Quando ele terminava, Joe normalmente já estava bêbado, e o rapaz o levava para casa dirigindo. Não tinha carteira, mas Joe não sabia disso e nunca estivera sóbrio o suficiente para reparar na sua condução hesitante. Após ajudá-lo a entrar no apartamento onde morava, Walli tinha de transportar a bateria até o hall e depois estacionar o furgão na garagem. – Eu poderia pegar hoje, depois do espetáculo. E a gente atravessa amanhã de manhã bem cedo, assim que o posto de controle abrir. – Se eu demorar a chegar em casa, meu pai vai começar a me procurar. – Volte para casa, vá dormir e acorde cedo. Espero você em frente à escola. Joe só vai acordar depois do meio-dia. Quando ele perceber que o furgão sumiu, já estaremos passeando
pelo Tiergarten. Karolin lhe deu um beijo. – Estou com medo, mas amo você. Walli ouviu a banda tocar “Avalon”, última música do primeiro set, e percebeu que os dois estavam conversando havia bastante tempo. – A gente vai entrar daqui a cinco minutos. Vamos lá. A banda desceu do palco e a pista de dança se esvaziou. Walli demorou menos de um minuto para instalar os microfones e o pequeno amplificador de sua guitarra. A plateia retomou seus drinques e conversas. Então os Bobbsey Twins subiram ao palco. Alguns clientes nem repararam, outros os observaram com interesse: eles formavam um belo casal, o que era sempre um bom começo. Como de costume, começaram tocando “Noch Einem Tanz”, que prendeu a atenção das pessoas e as fez rir. Cantaram algumas músicas folclóricas, duas dos Everly Brothers e “Hey, Paula”, sucesso de uma dupla americana bem parecida com eles, chamada Paul e Paula. Walli tinha uma voz mais para aguda, e cantava harmonias sobre a melodia de Karolin. Havia aperfeiçoado um dedilhado de guitarra ao mesmo tempo rítmico e melódico. Terminaram a apresentação com “If I Had a Hammer”. A maior parte da plateia adorou e bateu palmas no mesmo ritmo da batida, embora as palavras “justiça” e “liberdade” do refrão tenham provocado algumas expressões severas. Desceram do palco sob fortes aplausos. Walli estava tonto com a euforia de saber que tinha agradado à plateia. Era melhor do que se embriagar. Teve a sensação de estar voando. Ao passar por ele nas coxias, Joe disse: – Se cantar essa música outra vez, está demitido. A animação de Walli murchou; ele teve a sensação de haver levado um tapa. Furioso, disse para Karolin: – Para mim, chega. Vou embora hoje mesmo. Os dois voltaram para o furgão. Era comum transarem uma segunda vez, mas nessa noite ambos estavam tensos demais. Walli espumava de tanta raiva. – Qual o horário mais cedo em que você poderia me encontrar amanhã? – perguntou a Karolin. Ela pensou por alguns instantes. – Vou para casa agora e digo a eles que preciso deitar cedo porque tenho de acordar cedo amanhã... para o ensaio do desfile de 1o de maio da faculdade. – Ótimo. – Poderia encontrar você às sete sem levantar suspeitas. – Perfeito. Não vai ter muito tráfego no posto de controle a essa hora, em um domingo de manhã. – Então me dê outro beijo. Eles se beijaram demoradamente, com sofreguidão. Walli tocou seus seios, então se
afastou. – Da próxima vez que nós transarmos, estaremos livres. Desceram do furgão. – Às sete – repetiu ele. Karolin acenou e desapareceu noite adentro. Walli passou o resto da noite tomado por uma onda de esperança misturada com raiva. Sentia-se constantemente tentado a demonstrar o desprezo que sentia por Joe, mas também temia que, por algum motivo, não conseguisse roubar o furgão. Se demonstrou o que estava sentindo, porém, Joe não reparou, e à uma da manhã Walli estacionou o veículo na rua em frente à sua escola. O posto de controle ficava a duas esquinas dali e os guardas não podiam vê-lo, o que era uma coisa boa; não queria que o vissem e ficassem desconfiados. Deitou-se sobre as almofadas na traseira e fechou os olhos, mas estava frio demais para dormir. Passou a maior parte da noite pensando na família. Fazia mais de um ano que seu pai estava com um humor terrível. Werner não era mais dono da fábrica em Berlim Ocidental; tinha transferido o negócio para o nome de Rebecca, para o governo da Alemanha Oriental não poder encontrar um jeito de tomá-lo da família. Embora não pudesse ir à fábrica pessoalmente, continuava tentando tocá-la, e contratara um contador dinamarquês para servir de intermediário. Como era estrangeiro, Enok Andersen podia passar de Berlim Ocidental a Berlim Oriental uma vez por semana para encontrar Werner. Mas isso não era jeito de administrar um negócio, e seu pai estava ficando maluco. Walli tampouco pensava que a mãe estivesse feliz. Chefe da enfermagem em um grande hospital, Carla praticamente só pensava em trabalho. Odiava os comunistas tanto quanto os nazistas, mas não podia fazer nada em relação a isso. Sua avó Maud exibia o mesmo estoicismo de sempre. Segundo ela, a Alemanha vinha brigando com a Rússia desde que ela se lembrava, e seu único desejo era viver o suficiente para ver quem iria ganhar. Ela achava que tocar guitarra era uma conquista, ao contrário de seus pais, que consideravam aquilo uma perda de tempo. De todos eles, era de Lili que ele sentiria mais falta. Sua irmã agora tinha 14 anos, e ele gostava bem mais dela do que quando eram ambos crianças e ela, uma pestinha. Tentou não pensar muito nos perigos que enfrentaria. Não queria perder a coragem. Durante a madrugada, ao sentir sua determinação enfraquecer, pensava nas palavras de Joe: “Se cantar essa música outra vez, está demitido.” A lembrança atiçava sua raiva. Se ficasse na Alemanha Oriental, passaria o resto da vida ouvindo de imbecis como Joe o que deveria tocar. Não seria vida, seria um inferno; impossível de aguentar. Independentemente do que acontecesse, precisava ir embora dali. Qualquer alternativa era inconcebível. Pensar assim lhe deu coragem. Às seis, ele saiu do furgão e partiu em busca de uma bebida quente e de algo para comer. No entanto, não encontrou nada aberto, nem mesmo nas estações de trem, e voltou para o furgão mais faminto do que nunca. Mas a caminhada o havia aquecido.
A luz do dia tornou o ar menos gelado. Walli foi se sentar no banco do motorista para poder ver Karolin chegar. Ela não teria nenhuma dificuldade para encontrá-lo: conhecia o furgão, e de toda forma não havia mais nenhum veículo do mesmo tipo estacionado perto da escola. Visualizou vezes sem conta o que estava prestes a fazer. Pegaria os guardas de surpresa. Eles levariam alguns segundos para entender o que estava acontecendo. Depois disso, provavelmente começariam a atirar. Com sorte, quando começassem a atirar, Walli e Karolin já os teriam deixado para trás e eles teriam de mirar na traseira do furgão. Que perigo isso poderia representar? Ele realmente não fazia a menor ideia. Nunca tinha sido alvejado por tiros. Nunca sequer tinha visto alguém disparar uma arma de fogo, por qualquer motivo que fosse. Não sabia se balas atravessavam um veículo ou não. Lembrava-se de ouvir o pai dizer que acertar alguém com uma arma não era tão fácil quanto parecia nos filmes. Seu conhecimento parava por aí. Teve alguns instantes de ansiedade quando um carro de polícia passou. O policial sentado no carona o encarou. Se pedissem para ver sua habilitação, ele estaria frito. Amaldiçoou a própria estupidez por não ter ficado na traseira do furgão. Mas a viatura não parou. Na sua imaginação, se algo saísse errado, tanto ele quanto Karolin seriam mortos pelos guardas. Ocorreu-lhe porém, pela primeira vez, que um poderia ser baleado e o outro sobreviver. Era uma possibilidade terrível. Eles muitas vezes diziam “eu te amo” um para o outro, mas agora ele estava sentindo isso de outra forma. Amar alguém, percebeu, era ter algo tão precioso que não se podia suportar perdê-lo. Uma possibilidade ainda pior lhe passou pela cabeça: um deles poderia ficar aleijado, como Bernd. Como ele se sentiria se Karolin ficasse paralisada por sua culpa? Iria querer se matar. Seu relógio enfim indicou as sete da manhã. Pensou se alguma daquelas possibilidades teria ocorrido a Karolin. Quase certamente sim. Em que mais ela poderia ter passado a noite pensando? Será que iria aparecer andando pela rua, sentar ao seu lado no furgão e lhe dizer baixinho que não estava disposta a correr aquele risco? O que ele faria nesse caso? Não poderia desistir e passar o resto da vida atrás da Cortina de Ferro. Mas seria capaz de abandoná-la e ir sozinho? Quando deu sete e quinze e ela não apareceu, ficou decepcionado. Às sete e meia, a decepção virou preocupação e, às oito, se transformou em desespero. O que tinha saído errado? Será que o pai dela tinha descoberto que não havia ensaio do desfile de 1o de maio da faculdade nesse dia? Por que ele se daria ao trabalho de verificar uma informação dessas? Será que Karolin ficara doente? Mas estava com a saúde perfeita na noite anterior. Será que tinha mudado de ideia? Talvez. Ela nunca tivera tanta certeza quanto Walli da necessidade de fugir. Externava dúvidas,
previa dificuldades. Quando haviam conversado sobre o assunto na noite anterior, ele desconfiara que ela fosse contra o plano todo até o momento em que mencionara criar os filhos na Alemanha Oriental. Fora nessa hora que ela havia se rendido ao seu raciocínio. Mas agora parecia ter repensado. Ele decidiu lhe dar até as nove. E depois? Iria sozinho? Não sentia mais fome. Sua tensão era tanta que ele sabia que não conseguiria comer. Mas estava com sede. Teria quase trocado a guitarra por um café quentinho com creme. Às quinze para as nove, uma moça esguia de cabelos louros veio caminhando pela rua em direção ao furgão e o coração de Walli acelerou, mas quando ela chegou perto ele viu que suas sobrancelhas eram escuras, a boca pequena e os dentes da frente saltados. Não era Karolin. Às nove, Karolin ainda não tinha aparecido. Ir ou ficar? Se cantar essa música outra vez, está demitido. Ele deu a partida no motor. Avançou bem devagar e dobrou a primeira esquina. Precisaria estar em alta velocidade para romper a cancela de madeira. Por outro lado, se chegasse a toda, os guardas perceberiam. Precisava começar em velocidade normal, diminuir um pouco para enganá-los e então pisar fundo no acelerador. Infelizmente, quando se pisava fundo no acelerador daquele furgão, pouca coisa acontecia. O Framo tinha um motor de dois tempos com três cilindros de 900 cilindradas. Walli pensou que talvez devesse ter mantido a bateria no bagageiro, para que o peso do instrumento desse mais impulso ao furgão na hora do impacto. Dobrou uma segunda esquina e viu o posto de controle surgir à sua frente. A uns 300 metros, a rua estava bloqueada por uma cancela que podia ser erguida para dar acesso a uma área aberta com uma guarita. O espaço tinha uns 50 metros de comprimento. Outra cancela de madeira bloqueava a saída. Depois disso, a rua era deserta por uns 30 metros antes de se transformar em uma rua normal de Berlim Ocidental. Berlim Ocidental, pensou; depois a Alemanha Ocidental e então os Estados Unidos. Um caminhão aguardava antes da primeira cancela. Walli parou o furgão depressa. Se entrasse em uma fila, estaria perdido, pois não teria muitas chances de ganhar velocidade. Quando o caminhão passou pela cancela, um segundo veículo apareceu. Walli aguardou. No entanto, viu um guarda olhando na sua direção e percebeu que a sua presença tinha sido notada. Em uma tentativa de disfarçar, saltou do furgão, deu a volta e abriu a porta de trás. Dali podia ver através do para-brisa. Assim que o segundo veículo entrou no espaço entre as duas cancelas, retornou ao banco do motorista. Engatou a marcha do furgão e hesitou. Ainda dava tempo de desistir. Poderia levar o furgão de volta à garagem de Joe, deixá-lo lá e voltar a pé para casa; seu único problema seria
explicar aos pais onde havia passado a noite. Vida ou morte. Se esperasse agora, outro caminhão poderia surgir e entrar na sua frente, e depois disso um guarda poderia vir andando pela rua para lhe perguntar o que ele achava que estava fazendo, espreitando bem na frente de um posto de controle. E sua oportunidade estaria perdida. Se você cantar essa música outra vez... Soltou a alavanca de marchas e o furgão avançou. Chegou a 50 quilômetros por hora, depois diminuiu um pouco. O guarda postado junto à cancela o observava. Ele pisou no freio. O guarda olhou para o outro lado. Walli meteu o pé no acelerador até o fundo. O guarda ouviu a mudança no barulho do motor e se virou, com a testa levemente franzida de incompreensão. Enquanto o furgão começava a acelerar, acenou para Walli com o gesto de quem manda diminuir. Walli pisou com mais força no pedal, mas não adiantou nada; o Framo foi ganhando velocidade devagar, feito um elefante. Walli viu a expressão do guarda mudar em câmera lenta: de curiosidade para reprovação e, por fim, alarme. Então o homem entrou em pânico. Embora não estivesse no caminho do furgão, deu três passos para trás e se colou a uma parede. Walli deu um berro que foi parte grito de guerra, parte puro terror. O furgão atingiu a cancela com um estrondo de metal se deformando. O impacto o projetou para a frente, contra o volante, que bateu dolorosamente em suas costelas. Isso ele não havia previsto. De repente, ficou difícil recuperar o fôlego. Mas a cancela de madeira se partiu com um estalo igual a um tiro e o furgão seguiu em frente, com a velocidade só um pouco reduzida pelo impacto. Ele engatou a primeira e acelerou. Os dois veículos à sua frente tinham encostado para serem inspecionados, deixando o caminho livre até a saída. As outras pessoas presentes na área aberta, três guardas e dois motoristas, se viraram para ver o que era aquele barulho. O Framo ganhou velocidade. Walli sentiu uma onda de confiança. Iria conseguir! Então um guarda com presença de espírito acima da média se ajoelhou e mirou nele a submetralhadora. Estava de um dos lados do caminho que Walli teria de usar para sair. De repente, o rapaz se deu conta de que iria passar bem perto dele. Com certeza seria alvejado e morto. Sem pensar, girou o volante e partiu direto para cima do guarda. O guarda disparou uma rajada. O para-brisa se espatifou, mas, para seu próprio espanto, Walli não foi atingido. Estava quase em cima do sujeito. De repente, foi acometido pelo horror de passar com um veículo por cima de um homem vivo, e deu uma guinada no volante para desviar. Mas já era tarde, e a frente do furgão acertou o homem com um baque nauseante e o derrubou no chão. – Não! – gritou Walli. O furgão se inclinou quando a roda dianteira passou por cima do guarda. – Ai, meu Deus! – gemeu.
Nunca quisera machucar ninguém. À medida que Walli era dominado pelo desespero, o furgão diminuía a velocidade. Ele quis saltar, ver se o guarda ainda estava vivo e, caso estivesse, ajudá-lo. Então os tiros recomeçaram e ele percebeu que, se pudessem, os guardas agora iriam matá-lo. Atrás de si, ouviu balas acertarem a carroceria do furgão. Pressionou o pedal para baixo e deu outra guinada no volante para tentar acertar a trajetória. Tinha perdido o impulso. Conseguiu virar o volante na direção da cancela de saída. Não sabia se estava rápido o suficiente para quebrá-la. Resistindo ao impulso para trocar de marcha, deixou o motor guinchar na primeira. Sentiu uma dor súbita, como se alguém tivesse cravado uma faca em sua perna. O susto e a dor o fizeram gritar. Seu pé soltou o pedal e o furgão perdeu velocidade na hora. Ele teve de se forçar a pisar novamente, apesar de estar com muita dor. Chegou a gritar de tanta agonia, e sentiu o sangue quente escorrer pela canela até o sapato. O furgão atingiu a segunda cancela de madeira. Walli foi novamente projetado para a frente; o volante o acertou nas costelas; a cancela de madeira se partiu como a primeira e desapareceu da sua frente; e de novo o furgão seguiu adiante. O Framo cruzou um trecho de concreto. O tiroteio cessou. Walli viu uma rua com lojas, anúncios de Lucky Strike e de Coca-Cola, carros novos e lustrosos, e o melhor de tudo: um pequeno grupo de soldados atônitos usando uniformes americanos. Tirou o pé do acelerador e tentou frear. De repente, a dor foi demais: sua perna parecia paralisada, e ele não conseguiu pisar no pedal do freio. Desesperado, guiou o veículo para cima de um poste. Os soldados correram até o furgão e um deles abriu a porta. – Aí, garoto! Você conseguiu! – falou. Consegui, pensou Walli. Estou vivo e livre. Mas sem Karolin. – Foi uma fuga e tanto – comentou o soldado, admirado. Não era muito mais velho do que ele. Quando Walli relaxou, a dor ficou insuportável. – Minha perna está doendo – conseguiu dizer. O soldado olhou para baixo. – Jesus, olha só quanto sangue... – Virou-se e falou com alguém mais atrás: – Ei, chame uma ambulância! Walli desmaiou.
O ferimento a bala de Walli foi costurado e ele recebeu alta do hospital no dia seguinte, com hematomas nas costelas e uma atadura em volta da canela esquerda. Segundo os jornais, o guarda de fronteira que ele havia atropelado tinha morrido. Mancando, foi até a fábrica de televisores Franck e contou sua história a Enok Andersen, o
contador dinamarquês, que tomou providências para avisar a Werner e Carla que seu filho estava bem. Deu-lhe alguns marcos alemães, e Walli alugou um quarto na Associação Cristã de Moços. Suas costelas doíam toda vez que ele se virava na cama, e ele dormiu mal. No dia seguinte, foi buscar sua guitarra no furgão. Ao contrário dele próprio, o instrumento sobrevivera intacto à travessia. O furgão, no entanto, estava irrecuperável. Walli deu entrada em um pedido de passaporte da Alemanha Ocidental, que era concedido aos fugitivos de forma quase automática. Estava livre. Tinha escapado do puritanismo sufocante do regime comunista de Walter Ulbricht. Podia tocar e cantar tudo o que quisesse. E estava desconsolado. Morria de saudades de Karolin. Sentia como se uma de suas mãos tivesse sido amputada. Não parava de pensar em coisas que lhe diria ou perguntaria naquela noite ou no dia seguinte, para de repente se lembrar que não podia falar com ela, e todas as vezes essa lembrança terrível o atingia como um chute no estômago. Quando via uma garota bonita na rua, pensava no que ele e Karolin poderiam fazer no sábado seguinte na traseira do furgão de Joe, então se dava conta de que não haveria mais noites na traseira do furgão, então a tristeza o dominava. Quando passava em frente a clubes nos quais poderia tocar, pensava se conseguiria suportar se apresentar sem Karolin ao seu lado. Falou ao telefone com sua irmã Rebecca, que insistiu para ele ir morar em Hamburgo com ela e o marido, mas agradeceu e disse não. Não conseguia sair de Berlim com Karolin ainda morando na parte oriental. Uma semana depois, louco de saudades, pegou a guitarra e foi até o clube de folk Minnesänger, onde havia conhecido a namorada dois anos antes. Um cartaz do lado de fora dizia que o local estava fechado às segundas, mas, como a porta estava entreaberta, entrou mesmo assim. Sentado em frente ao bar, fazendo contas em um livro-caixa, estava o jovem apresentador e proprietário da casa, Danni Hausmann. – Eu me lembro de você – disse ele. – Da dupla Bobbsey Twins. Vocês eram ótimos. Por que nunca voltaram? – Os Vopos destruíram meu violão – explicou Walli. – Mas estou vendo que você já arrumou outro instrumento. Walli assentiu. – Mas perdi Karolin. – Que mancada. Ela era bem bonita. – Nós dois morávamos no lado oriental. Ela continua lá, mas eu fugi. – Como? – Arrebentei a cancela com um furgão. – Foi você?! Li no jornal sobre isso. Nossa, cara, que demais! Mas por que não trouxe a
garota? – Ela marcou comigo e não apareceu. – Que droga... Quer beber alguma coisa? Ele foi para trás do bar. – Aceito, obrigado. Queria voltar para buscá-la, mas agora estou sendo procurando por assassinato lá. Danni serviu duas canecas de chope. – Os comunistas fizeram um escarcéu por causa disso. Estão dizendo que você é um criminoso violento. Eles também tinham pedido a extradição de Walli. O governo da Alemanha Ocidental recusara dizendo que o guarda havia atirado em um cidadão alemão que só queria passar de uma rua de Berlim para outra, e que a responsabilidade pela sua morte era do regime oriental, que governava sem ter sido eleito e aprisionava de forma ilegal seus habitantes. Racionalmente, Walli não achava que tivesse feito nada de errado, mas em seu coração não conseguia se acostumar com a ideia de ter matado um homem. – Se eu atravessar a fronteira, eles vão me prender. – Cara, você está fodido. – E até agora não sei por que Karolin não apareceu. – E não pode voltar lá e perguntar a ela. A menos que... Walli apurou os ouvidos. – A menos que o quê? Danni hesitou. – Nada. Walli pousou a caneca. Não podia deixar passar um comentário daqueles. – Vamos lá, cara... a menos que o quê? – De todas as pessoas em Berlim, acho que posso confiar no cara que matou um guarda de fronteira da Alemanha Oriental – disse Danni, pensando em voz alta. Aquela conversa estava deixando Walli maluco. – Que história é essa? Danni se decidiu. – Ah, é só uma coisa da qual ouvi falar. Se fosse só uma coisa da qual ele tivesse ouvido falar, não faria tanto segredo, pensou Walli. – Do que você ouviu falar? – Que talvez tenha um jeito de voltar sem passar por um posto de controle. – Como? – Não posso dizer. Walli ficou bravo; o rapaz parecia estar brincando com ele. – Então por que tocou nesse assunto, porra?
– Calma, ok? Não posso dizer, mas poderia apresentar você a uma pessoa. – Quando? Depois de pensar um pouco, Danni respondeu à pergunta com outra pergunta: – Está disposto a voltar hoje? Tipo agora? Apesar do medo que sentia, Walli não hesitou: – Estou. Mas por que a pressa? – Para você não ter oportunidade de contar a ninguém. Eles não são exatamente profissionais em relação à segurança, mas também não são completamente estúpidos. Danni estava se referindo a um grupo organizado. Aquilo soava promissor. Walli se levantou do banco. – Posso deixar minha guitarra aqui? – Vou guardar no depósito. – Ele pegou o estojo do instrumento e o trancou dentro de um armário junto com vários outros e alguns amplificadores. – Vamos lá. O Minnesänger ficava bem perto da Ku’damm. Danni fechou o clube e eles foram a pé até a estação de metrô mais próxima. Reparou que Walli estava mancando. – Os jornais disseram que você tomou um tiro na perna. – É. Está doendo para caralho. – Acho que posso confiar em você. Um agente da Stasi disfarçado não iria se ferir. Walli não sabia se ficava empolgado ou apavorado. Será que conseguiria realmente voltar a Berlim Oriental naquele mesmo dia? Isso parecia superar suas expectativas. No entanto, também lhe causava grande temor. Na Alemanha Oriental ainda havia pena de morte. Se fosse preso, provavelmente seria executado na guilhotina. Os dois atravessaram a cidade de metrô. Ocorreu a Walli que aquilo poderia ser uma cilada. A Stasi com certeza devia ter agentes em Berlim Ocidental, e o dono do Minnesänger poderia muito bem ser um deles. Será que teriam tanto trabalho assim para pegá-lo? Era um pouco excessivo, mas, sabendo como Hans Hoffmann era vingativo, Walli achava possível. Ficou observando Danni discretamente durante o trajeto no metrô. Será que ele poderia ser um agente da Stasi? Era difícil de imaginar. Devia ter 25 anos e usava os cabelos meio compridos penteados para a frente, como estava na moda. Calçava botas com elásticos nas laterais e bicos pontudos. Administrava uma casa noturna de sucesso. Era bacana demais para ser da polícia. Por outro lado, ele ocupava uma posição perfeita para espionar os jovens anticomunistas de Berlim Ocidental; a maioria devia frequentar seu clube. Danni devia conhecer quase todos os líderes estudantis do lado ocidental. Será que a Stasi se importava com o que esses jovens faziam? É claro que sim. Seus agentes tinham a mesma obsessão de padres medievais caçadores de bruxas. Mas, se aquela oportunidade significava falar com Karolin só mais uma vez, Walli não podia deixá-la passar.
Prometeu a si mesmo ficar atento. O sol já estava se pondo quando saíram do metrô no bairro de Wedding. Caminharam em direção ao sul, e Walli logo percebeu que estavam rumando para a Bernauer Strasse, por onde Rebecca tinha fugido. À luz cada vez mais fraca, pôde ver como a rua estava diferente. Do lado sul, um muro de concreto havia substituído a cerca de arame farpado; os prédios do lado comunista estavam em plena demolição. Do lado livre, onde ele e Danni estavam, a rua tinha um aspecto malcuidado, e as lojas no andar térreo dos prédios de apartamentos pareciam abandonadas. Imaginou que ninguém quisesse morar tão perto do Muro, que aviltava os olhos e o coração. Danni o conduziu até os fundos de um dos prédios, onde entraram pela porta de serviço de uma loja abandonada que parecia ter sido uma mercearia, pois nas paredes se viam reclames de azulejo anunciando salmão e chocolate em pó. Só que pilhas altas de terra ocupavam a loja e os cômodos em volta, deixando apenas uma estreita passagem, e Walli começou a desconfiar do que estava acontecendo ali. Danni abriu uma porta e desceu uma escada de concreto iluminada por uma lâmpada elétrica. Walli foi atrás. O dono do clube disse bem alto uma frase que talvez fosse em código: “Submarinos a caminho!” No pé da escada ficava um grande porão, decerto usado como estoque pelo dono da mercearia. No piso agora se abria um poço quadrado de um metro de largura, encimado por um guincho de aspecto surpreendentemente profissional. Eles tinham cavado um túnel. – Há quanto tempo isso existe? – perguntou Walli. Se sua irmã tivesse sabido sobre o túnel no ano anterior, poderia ter fugido por ali, evitando assim o acidente responsável pela paralisia de Bernd. – Tempo demais – respondeu Danni. – Terminamos faz uma semana. – Ah. – O túnel era recente demais para ter tido alguma serventia para Rebecca. – O túnel só é usado ao entardecer. De dia, seria muito visível, e à noite teríamos de usar lanternas, o que poderia chamar atenção. Mesmo assim, o risco de sermos descobertos aumenta toda vez que fazemos alguém atravessar. Um rapaz de jeans emergiu do poço por uma escada; devia ser um dos estudantes que haviam escavado o túnel. Encarou Walli com firmeza e perguntou: – Quem é esse, Danni? – Pode deixar que eu garanto, Becker. Conheço o garoto desde antes do Muro. – O que ele está fazendo aqui? – Becker se mostrava hostil, desconfiado. – Ele quer atravessar. – Para o lado oriental?! – Eu fugi na semana passada, mas preciso voltar por causa da minha namorada – explicou Walli. – Não posso atravessar por um posto de controle normal porque matei um guarda de fronteira, então estou sendo procurado por assassinato. – Aquele cara é você? – Becker o examinou outra vez. – É, estou reconhecendo pela foto
no jornal. – Seu comportamento mudou. – Pode passar, mas não tem muito tempo. – Ele olhou para o relógio. – Eles vão começar a passar do lado oriental daqui a exatamente dez minutos. No túnel mal cabe uma pessoa, e não quero que você provoque um engarrafamento e atrapalhe os fugitivos. Apesar do medo, Walli não quis perder a oportunidade. – Vou passar agora – falou, disfarçando a ansiedade. – Tá bom, pode ir. Walli apertou a mão de Danni. – Obrigado. Volto para buscar minha guitarra. – Boa sorte com a garota. Walli desceu depressa pela escada. O poço tinha três metros de profundidade. No fundo ficava a entrada de um túnel com cerca de um metro de altura. Ele logo viu que a construção era sólida. O chão estava coberto por tábuas de madeira, e o teto tinha escoras a intervalos regulares. Ficou de quatro e começou a engatinhar. Depois de alguns segundos, percebeu que não havia luz. Continuou engatinhando até o túnel ficar totalmente escuro. Foi dominado por um medo visceral. Sabia que o perigo de verdade seria quando saísse na Alemanha Oriental, do outro lado, mas seu instinto animal lhe dizia para sentir medo ali, enquanto engatinhava sem conseguir ver nem um centímetro à frente do nariz. Para se distrair, tentou visualizar a paisagem urbana lá em cima. Devia estar passando por baixo de uma rua, depois do Muro, depois das casas semidestruídas do lado comunista; mas não fazia ideia de qual era o comprimento do túnel nem de onde terminava. O esforço o deixara ofegante, suas mãos e joelhos doíam de tanto roçar na madeira, e o ferimento a bala na canela ardia de tanta dor, mas tudo o que ele pôde fazer foi cerrar os dentes e prosseguir. O túnel não podia ser infinito; tinha de acabar em algum lugar. Ele só precisava continuar engatinhando. A sensação de estar perdido em uma escuridão sem fim não passava de um pânico infantil. Ele precisava manter a calma. Era capaz disso. No final daquele túnel estava Karolin – não no sentido literal, mas pensar no sorriso sensual de sua boca larga lhe deu coragem. Uma réstia de luz surgiu mais à frente, ou teria sido sua imaginação? Por muito tempo, a luz permaneceu débil demais para que ele pudesse ter certeza, mas por fim ficou mais forte e, alguns segundos depois, ele adentrou um espaço com iluminação elétrica. Viu outro poço acima da cabeça. Subiu uma escada e percebeu que estava em outro porão. Três pessoas o encaravam. Duas carregavam bagagens; supôs que fossem fugitivos. A terceira, provavelmente um dos estudantes responsáveis pelo túnel, olhou para ele e disse: – Eu não conheço você! – Foi Danni quem me trouxe. Meu nome é Walli Franck.
– Tem gente demais sabendo sobre este túnel! – disse o sujeito com uma voz tensa e aguda. Bom, é claro que tem, pensou Walli: todo mundo que foge obviamente conhece o segredo. Entendeu por que Danni tinha dito que o perigo aumentava sempre que o túnel era usado. Pensou se continuaria aberto quando ele quisesse voltar. A possibilidade de ficar preso outra vez na Alemanha Oriental quase o fez querer dar meia-volta e engatinhar de novo até o outro lado. O homem se virou para os outros dois que carregavam as bagagens. – Podem ir – instruiu. Os dois desceram pelo poço. Tornando a se virar para Walli, apontou para um lance de degraus de pedra. – Suba lá e espere. Quando a barra estiver limpa, Cristina vai abrir o alçapão do lado de fora. Aí você sai. Depois disso, vai estar por sua conta. – Obrigado. – Walli subiu a escada até a cabeça encostar em um alçapão de ferro no teto. Imaginou que aquilo antigamente devia ser usado para entregas de algum tipo. Agachou-se nos degraus e forçou-se a ter paciência. Para sua sorte, tinha alguém vigiando o lado de fora, caso contrário ele poderia ser visto saindo. Alguns minutos depois, o alçapão foi aberto. À luz do início da noite, ele viu uma moça de lenço cinza na cabeça. Saiu rapidamente, e duas outras pessoas com bagagens desceram apressadas pelos degraus. A moça chamada Cristina fechou o alçapão. Walli constatou, surpreso, que havia uma pistola presa em seu cinto. Olhou em volta. Estava dentro de um pequeno pátio murado nos fundos de um prédio de apartamentos abandonado. Cristina apontou para uma porta de madeira na parede. – Por ali – falou. – Obrigado. – Suma daqui. Rápido. Estavam todos tensos demais para serem educados. Walli abriu a porta e saiu para a rua. À sua esquerda, a poucos metros, erguia-se o Muro. Ele dobrou à direita e começou a andar. No início, não parou de olhar em volta, imaginando que um carro da polícia fosse aparecer cantando pneus. Depois tentou agir normalmente e caminhar saltitando pela calçada como costumava fazer. Por mais que tentasse, porém, não conseguiu parar de mancar; a dor na perna era demais. Seu primeiro impulso foi ir direto para a casa de Karolin, mas não podia bater à sua porta. O pai dela chamaria a polícia. Não tinha pensado direito naquilo. Talvez fosse melhor ir encontrá-la na tarde seguinte, depois das aulas. Não havia nada suspeito no fato de um rapaz esperar a namorada na saída da faculdade, e ele já tinha feito isso muitas vezes. Precisava dar um jeito de nenhuma das colegas dela ver seu rosto. Estava louco de impaciência para vê-la, mas seria loucura não tomar cuidado. Até lá, o que poderia fazer?
A saída do túnel ficava na Strelitzer Strasse, que avançava na direção sul até entrar no centro antigo da cidade, Berlin-Mitte, onde sua família morava. Ele estava a poucos quarteirões da casa dos pais. Poderia ir para casa. Talvez eles até ficassem felizes em vê-lo. Quando chegou perto de sua rua, imaginou se a casa poderia estar sendo vigiada. Caso estivesse, não poderia ir para lá. Pensou outra vez em mudar a própria aparência, mas não tinha nada com que se disfarçar: naquela manhã, ao sair de seu quarto na Associação Cristã de Moços, nem sequer sonhava que ao cair da noite estaria de volta a Berlim Oriental. Na casa de sua família haveria chapéus, cachecóis e outras peças úteis de vestuário, mas primeiro ele precisava chegar lá a salvo. Felizmente, já estava escuro. Seguiu pela rua dos pais na calçada oposta, vasculhando os arredores em busca de pessoas que pudessem ser espiões da Stasi. Não viu ninguém à espreita, nem sentado em algum carro estacionado, nem parado junto a uma janela. Mesmo assim, foi até o final da rua e contornou o quarteirão. Na volta, esgueirou-se para dentro do beco que conduzia aos quintais dos fundos. Abriu um portão, atravessou o quintal dos pais e chegou à porta da cozinha. Eram nove e meia: seu pai ainda não tinha trancado a casa. Walli abriu a porta e entrou. A luz estava acesa, mas não tinha ninguém na cozinha. O jantar terminara havia tempo e seus parentes deviam estar na sala íntima do andar de cima. Ele cruzou o hall de entrada e subiu a escada. A porta da sala estava aberta, e ele entrou. Sua mãe, seu pai, sua irmã e sua avó assistiam à TV. – Oi, gente – falou. Lili deu um grito. – Meu Deus do céu! – exclamou sua avó Maud, em inglês. Carla empalideceu e tapou a boca com as duas mãos. Werner se levantou. – Filho – falou. Com dois passos, atravessou a sala e tomou Walli nos braços. – Meu filho, graças a Deus! Uma represa de sentimentos se rompeu no coração de Walli, e ele chorou. Sua mãe o abraçou em seguida, chorando copiosamente. Então foi a vez de Lili e de Maud. Walli enxugou os olhos com a manga da camisa de brim, mas as lágrimas não paravam de brotar. Aquela forte emoção o pegara de surpresa. Aos 17 anos, ele se considerava preparado para ficar sozinho e longe da família, mas agora percebia que estava apenas adiando as lágrimas. Por fim, todos se acalmaram e secaram os olhos. Carla refez o curativo do ferimento de Walli, que havia sangrado durante a travessia do túnel, em seguida preparou um café e trouxe um pedaço de bolo; ele se deu conta de que estava faminto. Depois de comer e beber até ficar satisfeito, contou-lhes a história toda. Então, quando eles esgotaram as perguntas, foi se deitar.
No dia seguinte, às três e meia da tarde, de boina e óculos escuros, estava encostado em um muro do outro lado da rua em frente à faculdade de Karolin. Tinha chegado cedo: as moças só saíam às quatro. Um sol otimista brilhava sobre Berlim. A cidade era um misto de prédios antigos imponentes, concreto moderno em ângulos retos e terrenos baldios que iam desaparecendo aos poucos nos pontos bombardeados durante a guerra. Walli estava muito ansioso. Dali a poucos minutos veria o rosto de Karolin, emoldurado por longas cortinas de cabelos louros, com a boca larga sorridente. Iria beijá-la e sentir a textura carnuda e macia dos lábios dela sob os seus. Quem sabe até, antes do fim daquela noite, eles se deitassem juntos para transar. Também estava louco de curiosidade. Por que ela não aparecera para fugir com ele, nove dias antes? Tinha quase certeza de que algo havia acontecido para atrapalhar seus planos: o pai de alguma forma podia ter adivinhado o que ela estava tramando e trancado a filha no quarto, ou algum outro revés. Mas também estava com medo – um medo leve, mas não desprezível – de ela ter mudado de ideia em relação a ir com ele. Mal podia conceber os motivos possíveis para uma coisa dessas. Será que ela ainda o amava? As pessoas mudavam. A mídia na Alemanha Oriental o havia retratado como um assassino impiedoso. Será que isso tinha afetado Karolin? Logo iria descobrir. Apesar de arrasados com o que acontecera, seus pais não tinham tentado fazê-lo mudar de ideia. Consideravam-no jovem demais para sair de casa, mas sabiam que ele não podia ficar na parte oriental sem ir para a prisão. Tinham lhe perguntado o que ele iria fazer no Ocidente, estudar ou trabalhar, e ele respondera que não poderia tomar decisão nenhuma sem antes ter falado com Karolin. Werner e Carla tinham aceitado essa resposta, e pela primeira vez seu pai não tentara lhe dizer o que fazer. Eles o estavam tratando como adulto. Fazia anos que ele vinha exigindo isso, mas agora que estava acontecendo sentia-se perdido e assustado. As alunas começaram a sair da faculdade. O prédio era um antigo banco convertido em salas de aula. As alunas, todas adolescentes do sexo feminino, estudavam para ser datilógrafas, bibliotecárias e agentes de viagem. Carregavam bolsas, livros e pastas. Usavam conjuntos de suéter e saia adequados à primavera, um pouco fora de moda: candidatas a secretária precisavam se vestir com modéstia. Karolin finalmente apareceu, usando um twin set verde e carregando os livros dentro de uma velha pasta de couro. Ela estava diferente, pensou Walli, com o rosto um pouco mais redondo. Não podia ter engordado tanto em uma semana, ou podia? Vinha acompanhada por duas outras moças, conversando, embora não risse quando as colegas riam. Walli temeu que, se fosse falar com ela agora, as outras o notariam. Seria perigoso: mesmo estando disfarçado, elas talvez
soubessem que o notório assassino e fugitivo Walli Franck namorava Karolin, e poderiam desconfiar que aquele rapaz de óculos escuros era ele. Sentiu um pânico brotar dentro de si: será que os seus objetivos poderiam ser frustrados com tanta facilidade agora, no último instante, depois de tudo por que ele havia passado? Então as duas amigas dobraram à esquerda e se despediram com um aceno, e Karolin atravessou a rua sozinha. Quando ela se aproximou, ele tirou os óculos e disse: – Oi, amor. Ela o encarou, reconheceu-o e estacou com um gritinho de susto. Walli viu em sua expressão surpresa, medo e alguma outra coisa... culpa, talvez? Ela então correu até ele, largou a pasta no chão e se jogou em seus braços. Beijaram-se e abraçaram-se, e Walli se sentiu inundado de alívio e felicidade. Sua primeira pergunta estava respondida: ela ainda o amava. Um minuto depois, percebeu que transeuntes os encaravam, alguns sorrindo, outros com um ar reprovador. Tornou a pôr os óculos escuros. – Vamos – falou. – Não quero que ninguém me reconheça. Recolheu do chão a pasta que ela havia largado. Os dois se afastaram da faculdade de mãos dadas. – Como você conseguiu voltar? – perguntou ela. – É seguro? O que vai fazer? Alguém sabe que você está aqui? – Temos muito o que conversar – respondeu ele. – Precisamos de um lugar para sentar onde ninguém nos incomode. Do outro lado da rua, viu uma igreja. Talvez estivesse aberta para quem buscasse a calma espiritual. Levou Karolin até a porta. – Você está mancando – comentou ela. – O guarda de fronteira me deu um tiro na perna. – Está doendo? – Você nem imagina quanto. A porta da igreja estava destrancada, e eles entraram. Era um templo protestante simples, mal iluminado, com filas de bancos duros. Bem lá no fundo, uma mulher de lenço na cabeça espanava o púlpito. Walli e Karolin foram se sentar na última fila e começaram a conversar baixinho. – Eu te amo – disse Walli. – Eu também te amo. – O que aconteceu domingo de manhã? Você deveria ter ido me encontrar. – Fiquei com medo – respondeu ela. Não era a resposta que Walli esperava, e ele achou difícil de entender. – Eu também fiquei com medo – falou. – Mas nós tínhamos prometido um ao outro. – Eu sei.
Viu que ela estava aflita de tanto remorso, mas não era só isso. Não queria torturá-la, mas precisava saber a verdade. – Eu corri um risco terrível. Você não deveria ter dado para trás sem me avisar. – Desculpe. – Eu não teria feito a mesma coisa com você – continuou ele. – Amo você demais para isso – acrescentou, em tom acusador. Ela recuou, como se ele tivesse lhe dado um tapa. Sua resposta, porém, foi enérgica. – Eu não sou covarde – falou. – Se você me ama, como pôde me deixar na mão? – Eu daria minha vida por você. – Se fosse mesmo verdade, teria ido comigo. Como pode dizer isso agora? – Por que não é só a minha vida que está em risco. – A minha também está. – E a de outra pessoa. Walli não entendeu. – De quem, pelo amor de Deus? – Estou falando da vida do nosso filho. – Hein?! – Nós vamos ter um filho, Walli. Eu estou grávida. A boca de Walli se escancarou. Ele não conseguiu dizer nada. Em um segundo, seu mundo virou de cabeça para baixo. Karolin estava grávida. Um bebê iria entrar em suas vidas. Um filho seu. – Deus do céu – falou, por fim. – Fiquei tão dividida, Walli... – retomou ela, angustiada. – Você tem que tentar entender. Eu queria ir com você, mas não podia pôr o bebê em risco. Não podia entrar naquele furgão sabendo que você passaria direto pela cancela. Não me importaria de me machucar, mas não podia machucar a criança. – Seu tom era de súplica. – Diga que me entende. – Eu entendo – disse ele. – Acho que entendo. – Obrigada. Ele segurou sua mão. – Então tá, vamos decidir o que fazer. – Eu sei o que eu vou fazer – disse ela, com firmeza. – Eu já amo esse bebê. Não quero tirar. Ela já devia saber que estava grávida havia algumas semanas, calculou ele, e tinha pensado muito bem no assunto. Mesmo assim, ficou espantado com a firmeza daquela decisão. – Você fala como se a situação não tivesse nada a ver comigo – reclamou. – O corpo é meu! – retrucou ela, arrebatada. A faxineira olhou para trás e Karolin baixou a voz, mas seu tom continuou firme: – Nenhum homem vai me dizer o que fazer com o meu corpo, nem você nem meu pai!
Walli imaginou que o pai devia ter tentado convencê-la a abortar. – Eu não sou o seu pai – falou. – Não vou lhe dizer o que fazer nem quero convencê-la a abortar. – Desculpe. – Mas esse filho é nosso, ou só seu? Ela começou a chorar. – Nosso – respondeu. – Então que tal a gente conversar sobre o que fazer... juntos? Ela apertou sua mão. – Como você é maduro – comentou. – É bom que seja assim... vai ser pai antes dos 18 anos. Essa perspectiva era um choque para Walli. Pensou no próprio pai, com seus cabelos curtos e seus coletes. Ele agora seria obrigado a desempenhar aquele papel: firme, autoritário, confiável, sempre capaz de ser o provedor da família. Karolin podia dizer o que quisesse, mas ele não estava pronto para isso. Só que não tinha outra saída. – Para quando é? – perguntou. – Novembro. – Você quer se casar? Sem parar de chorar, ela sorriu. – Você quer se casar comigo? – Mais do que tudo neste mundo. – Obrigada. – Ela o abraçou. A faxineira deu uma tossida de reprovação. Conversar podia, mas contato físico, não. – Você sabe que eu não posso ficar aqui do lado oriental – disse Walli. – Seu pai não consegue arrumar um advogado? Ou fazer alguma pressão política? Se todas as circunstâncias forem esclarecidas, o governo talvez conceda um indulto. A família de Karolin não era envolvida com política. A de Walli, sim, e ele sabia, com toda a certeza, que jamais seria perdoado por ter matado um guarda de fronteira. – Impossível – falou. – Se eu ficar aqui, vou ser executado por assassinato. – Então o que pode fazer? – Preciso voltar para o Ocidente e ficar lá, a não ser que o comunismo caia, e não acho que isso vá acontecer enquanto eu estiver vivo. – Não. – Você tem que ir comigo para Berlim Ocidental. – Como? – Do mesmo jeito que eu vim para cá. Uns universitários cavaram um túnel debaixo da Bernauer Strasse. – Ele olhou para o relógio. O tempo estava passando depressa. – Temos que estar lá por volta da hora do pôr do sol.
Ela fez uma cara horrorizada. – Hoje? – É, agora. – Ai, meu Deus. – Não prefere que o nosso filho cresça em um país livre? O conflito interior provocou nela uma careta semelhante à de dor. – Eu preferiria não correr riscos terríveis. – Eu também. Mas a gente não tem escolha. Ela desviou os olhos dele para as filas de bancos, a faxineira caprichosa, e uma placa na parede que dizia EU SOU O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA. Walli pensou que aquilo não ajudava em nada, mas Karolin tomou sua decisão. – Então vamos – disse ela, e se levantou. Saíram da igreja. Walli seguiu na direção norte. Karolin estava cabisbaixa, e ele tentou animá-la. – Os Bobbsey Twins estão vivendo uma aventura – falou. Ela deu um sorriso rápido. Walli pensou se os dois poderiam estar sendo vigiados. Tinha quase certeza de que ninguém o vira deixar a casa dos pais pela manhã: saíra pelos fundos, e não fora seguido por ninguém. Mas será que Karolin estava sendo vigiada? Talvez houvesse outro homem esperando que ela saísse da faculdade, um especialista em passar despercebido. Começou a olhar por cima do ombro a cada minuto ou algo assim, para verificar se alguém se mantinha constantemente visível. Não viu nada suspeito, mas conseguiu amedrontar Karolin. – O que está fazendo? – indagou ela, assustada. – Vendo se tem alguém seguindo a gente. – O cara de boina, você quer dizer? – Pode ser. Vamos pegar um ônibus. – Estavam passando por um ponto, e Walli empurrou a namorada para o final da fila. – Por quê? – Para ver se alguém embarca e salta junto. Infelizmente, era horário de pico, e milhares de berlinenses estavam pegando ônibus e trens de volta para casa. Quando o ônibus chegou, a fila atrás deles já tinha várias pessoas, e ele examinou bem cada uma delas ao embarcarem. Havia uma mulher de capa de chuva, uma garota bonita, um homem de macacão azul, outro de terno e chapéu de feltro, e dois adolescentes. Eles deixaram passar três pontos antes de saltar. A mulher de capa de chuva e o sujeito de macacão saltaram também. Walli seguiu rumo ao oeste, de volta na direção da qual tinham vindo, calculando que, se alguém os seguisse em um trajeto tão fora de propósito, com certeza isso seria suspeito.
Mas ninguém o fez. – Tenho quase certeza de que não estamos sendo seguidos – disse ele para Karolin. – Estou com muito medo – confessou ela. O sol estava se pondo; eles não tinham tempo a perder. Viraram para o norte, em direção a Wedding. Walli olhou para trás outra vez. Viu um homem de meia-idade usando o casaco de lona marrom de um operário de armazém, mas não tinha reparado nele antes. – Acho que está tudo bem – falou. – Eu nunca mais vou ver minha família, não é? – Não por algum tempo. A menos que eles também fujam. – Meu pai jamais iria embora daqui. Ele ama aqueles ônibus. – No Ocidente também há ônibus. – Você não conhece meu pai. De fato, Walli não o conhecia, e Karolin tinha razão: seu pai não poderia ser mais diferente do inteligente e decidido Werner Franck. Não tinha qualquer ideal político ou religioso, e não dava a mínima para a liberdade de opinião. Se vivesse em uma democracia, provavelmente nem sequer se daria ao trabalho de votar. Gostava do trabalho, da família e do seu bar preferido. Sua comida predileta era pão. O comunismo supria todas as suas necessidades. Ele jamais fugiria para o Ocidente. Quando chegaram à Strelitzer Strasse, o sol já havia baixado. Conforme avançavam pela rua em direção ao final sem saída, rente ao Muro, Karolin ia ficando cada vez mais tensa. Mais à frente, Walli reparou em um casal jovem com uma criança. Pensou se eles também estariam fugindo. Sim, estavam: abriram a porta que dava para o pátio interno e sumiram por ali. Walli e Karolin chegaram lá, e ele disse: – É por ali que temos de entrar. – Quero minha mãe comigo na hora do parto – disse Karolin. – A gente está quase lá! – exclamou Walli. – Depois daquela porta tem um pátio com um alçapão. Basta descer pelo poço e atravessar o túnel rumo à liberdade! – Estou com medo de fugir – falou ela. – Estou com medo de dar à luz. – Vai correr tudo bem – garantiu Walli, em desespero. – No Ocidente, os hospitais são ótimos. Você vai estar cercada por médicos e enfermeiras. – Eu quero a minha mãe – insistiu ela. Por cima de seu ombro, a 400 metros de distância, Walli viu, na esquina da rua, o homem de casaco marrom falando com um policial. – Que merda! A gente estava sendo seguido. – Olhou para a porta, depois para Karolin. – É agora ou nunca. Eu não tenho escolha. Preciso ir. Você vem ou não? Ela estava aos prantos. – Eu quero, mas não consigo.
Um carro dobrou a esquina em alta velocidade. Parou junto ao policial e o homem do casaco marrom. Uma silhueta conhecida saltou do carro, um homem alto, de costas curvas: Hans Hoffmann. Ele disse alguma coisa ao homem do casaco marrom. – Ou você vem junto, ou vai embora daqui depressa. As coisas vão desandar – disse Walli para Karolin. Encarou-a. – Eu te amo. Então passou correndo pela porta. Em pé junto ao alçapão estava Cristina, ainda usando o mesmo lenço na cabeça e com a mesma pistola no cinto. Ao ver Walli, ela abriu as portas de ferro. – Talvez você precise dessa pistola – avisou ele. – A polícia está vindo. Olhou para trás uma única vez. A porta de madeira na parede permaneceu fechada. Karolin não o havia seguido. Sua barriga se contraiu de dor: era o fim. Desceu a escada às pressas. No subsolo, o jovem casal com a criança estava em pé com um dos estudantes. – Rápido! – gritou Walli. – A polícia está vindo! Eles desceram pelo poço, primeiro a mãe, depois a criança, e por último o pai. A criança demorou a descer a escada. Cristina também desceu e fechou o alçapão de ferro atrás de si com um baque. – Como a polícia nos achou? – perguntou ela. – A Stasi estava seguindo minha namorada. – Seu idiota imbecil, você traiu todos nós! – Então eu desço por último. O estudante desceu pelo poço, e Cristina fez menção de ir atrás. – Me dê a pistola – pediu Walli. Ela hesitou. – Se eu estiver atrás de você, não vai conseguir atirar. Ela lhe entregou a arma. Walli segurou a pistola com delicadeza: era igualzinha àquela que seu pai tinha pegado no esconderijo da cozinha no dia em que Rebecca e Bernd fugiram. Cristina reparou na sua hesitação. – Já atirou alguma vez na vida? – perguntou. – Nunca. Ela tornou a pegar a pistola e acionou uma alavanca perto do cão. – Assim a trava de segurança está solta. Aí é só mirar e apertar o gatilho. Ela tornou a prender a trava de segurança e lhe entregou a pistola outra vez. Então desceu a escada do poço. Walli agora podia ouvir gritos e motores de carro do lado de fora. Não conseguia adivinhar o que a polícia estava fazendo, mas obviamente o seu tempo estava se esgotando. Entendeu como as coisas tinham saído errado: Hans Hoffmann mandara seguir Karolin, sem dúvida na esperança de que Walli voltasse para buscá-la. O homem que a seguia a vira
encontrar um rapaz e ir embora com ele. Alguém decidira não prendê-los na hora, mas ver se poderiam conduzir quem os seguia até um grupo de cúmplices. Houvera uma discreta troca da guarda na hora em que eles saltaram do ônibus, e outra pessoa começara a segui-los: o homem do casaco marrom. Em determinado momento, ele percebera que os dois estavam indo na direção do Muro e dera o alarme. Agora a polícia e a Stasi estavam lá fora, revistando a parte dos fundos daqueles prédios abandonados para tentar entender onde ele e Karolin tinham ido parar. A qualquer momento iriam encontrar o alçapão. Com a pistola em punho, Walli desceu pelo poço atrás dos outros. Chegando lá embaixo, ouviu o baque do alçapão de ferro: a polícia tinha encontrado a entrada do túnel. Instantes depois, ouviu gritos roucos de surpresa e triunfo quando eles viram o buraco no chão. Na boca do túnel, teve de aguardar vários instantes, agoniado, até Cristina desaparecer lá dentro. Então foi atrás, mas logo parou. Era magro, e quase conseguia se virar na passagem estreita. Espiou para fora e viu a larga silhueta de um policial pisando a escada do poço. Não tinha jeito; a polícia estava perto demais. Tudo o que os agentes precisavam fazer era apontar as armas para dentro do túnel e disparar. Walli seria baleado, e quando caísse as balas passariam por cima dele e atingiriam a pessoa seguinte, e assim por diante: um banho de sangue. Ele sabia que a polícia não hesitaria em atirar, pois não havia misericórdia com fugitivos, nunca. Seria uma verdadeira carnificina. Precisava impedir que eles entrassem no poço. Mas não queria matar outro homem. Ajoelhado logo após a entrada do túnel, soltou a trava de segurança da Walther. Esticou para fora do túnel a mão que segurava a pistola, apontou-a para cima e puxou o gatilho. A arma deu um coice em sua mão. O estrondo ecoou bem alto dentro do espaço confinado. Imediatamente depois, ele ouviu gritos de consternação e medo, mas não de dor, e calculou que devia ter assustado os policiais sem chegar a acertar ninguém. Espiou para fora e viu o homem subir depressa a escada e sair do poço. Aguardou. Sabia que os fugitivos na sua frente iram devagar por causa da criança. Pôde ouvir os policiais discutindo em tom raivoso o que fazer. Nenhum deles estava disposto a descer pelo poço; era suicídio, afirmou alguém. Mas não podiam simplesmente deixar as pessoas fugirem! Para reforçar o perigo que a polícia corria, Walli deu um segundo tiro. Ouviu uma súbita movimentação de pânico, como se todos houvessem se afastado do poço. Pensou que tivesse conseguido afugentá-los. Virou-se para começar a engatinhar. Então ouviu uma voz bem conhecida. – Precisamos de granadas – disse Hans Hoffmann. – Ai, caralho! – praguejou Walli. Enfiou a pistola no cinto e começou a engatinhar túnel adentro. Não podia fazer nada agora
a não ser se afastar o máximo possível. Em pouco tempo, sentiu os sapatos de Cristina à sua frente. – Rápido! – gritou. – A polícia foi buscar granadas! – Não consigo ir mais rápido do que o cara na minha frente! – gritou ela de volta. Só lhe restava segui-la. Estava escuro agora. Nenhum ruído vinha do porão lá atrás. Policiais normais em geral não deviam portar granadas, supôs, mas Hans poderia conseguir algumas com guardas de fronteira ali perto em poucos minutos. Apesar de não conseguir ver nada, podia escutar a respiração ofegante dos outros fugitivos e o roçar de seus joelhos nas tábuas de madeira. A criança começou a chorar. Na véspera, Walli a teria amaldiçoado por ser um estorvo perigoso, mas agora que seria pai tudo o que conseguiu sentir por aquela criança assustada foi pena. O que a polícia iria fazer com as granadas? Será que os agentes prefeririam ficar em segurança e soltar uma delas dentro do poço, onde os danos seriam pequenos? Ou um deles teria coragem para descer e atirar uma dentro do túnel, com consequências mais letais? Isso poderia matar todos os fugitivos. Walli decidiu que precisava fazer mais alguma coisa para tentar conter a polícia. Deitouse, rolou para o outro lado, sacou a pistola e se apoiou no cotovelo esquerdo. Não conseguia ver nada, mas apontou na direção da entrada do túnel e apertou o gatilho. Várias pessoas gritaram. – O que foi isso? – perguntou Cristina. Walli guardou a pistola e recomeçou a engatinhar. – Foi só para desencorajar a polícia. – Da próxima vez, avise, pelo amor de Deus. Ele viu uma luz à frente. O túnel estava parecendo mais curto na volta. Ouviu gritos de alívio quando os outros perceberam que estavam chegando ao fim. Pegou-se engatinhando mais depressa, empurrando os sapatos de Cristina. Atrás dele, houve uma explosão. A onda de choque foi perceptível, mas fraca, e ele soube na hora que a polícia tinha jogado a primeira granada no poço. Nunca tinha prestado atenção suficiente nas aulas de física da escola, mas supôs que, naquelas circunstâncias, toda a força da explosão fosse direcionada para cima. No entanto, pôde prever o que Hans faria em seguida. Uma vez certo de que não havia mais ninguém à espreita logo na entrada do túnel, mandaria um policial descer o poço e lançar uma granada lá dentro. À sua frente, o grupo já estava saindo para o porão da mercearia abandonada. – Rápido! – gritou. – Subam a escada depressa! Cristina saiu do túnel e ficou em pé no poço, com um sorriso no rosto. – Relaxe – falou. – Aqui é o Ocidente. Nós saímos... estamos livres! – Granadas! – gritou Walli. – Subam o mais depressa que conseguirem!
O casal com a criança subia a escada do poço com uma lentidão excruciante. O estudante e Cristina foram atrás. Parado ao pé da escada, Walli tremia de impaciência e medo. Subiu logo depois de Cristina, com o rosto colado nos joelhos dela. Ao chegar lá em cima, viu todos em pé por ali, rindo e se abraçando. – No chão, no chão! – gritou. – Granadas! – Ele se jogou no chão. Um estrondo terrível ecoou. A onda de choque pareceu sacudir o subsolo. Ouviu-se então o ruído de algo sendo sugado, como um chafariz, e Walli imaginou que a terra estivesse esguichando pela boca do túnel. Dito e feito: uma chuva de lama e pedras se abateu sobre ele. O guincho acima do poço desabou e caiu dentro do buraco. O barulho se extinguiu. Não se ouvia nada no porão exceto os soluços da criança. Walli olhou em volta. O nariz da criança sangrava, mas ela parecia ilesa, e ninguém mais aparentava estar ferido. Ele olhou pela borda do poço e viu que o túnel tinha desabado. Endireitou-se, tremendo. Tinha conseguido. Estava vivo e livre. E sozinho.
Rebecca havia gastado grande parte do dinheiro do pai naquele apartamento em Hamburgo, o térreo do antigo casarão de um comerciante. Todos os cômodos, até o banheiro, eram grandes o bastante para Bernd poder virar a cadeira de rodas. Ela mandara instalar todos os equipamentos disponíveis para uma pessoa paraplégica. Paredes e tetos eram coalhados de cordas e barras para ele poder tomar banho, se vestir e subir e descer da cama. Bernd podia até cozinhar se quisesse, mas, assim como a maioria dos homens, era incapaz de preparar qualquer coisa mais complexa do que ovos. Ela estava decidida – furiosamente decidida – a ter a vida mais normal possível com o marido, apesar da sua condição. Os dois iriam aproveitar seu casamento, seus empregos e sua liberdade. Teriam uma vida plena e recompensadora. Qualquer outra coisa equivaleria a conceder a vitória aos tiranos do outro lado do Muro. A situação de Bernd não havia mudado desde que ele saíra do hospital. Segundo os médicos, havia uma chance de melhora, e ele precisava manter as esperanças. Um dia, insistiam eles, talvez pudesse até gerar filhos. Rebecca nunca deveria parar de tentar. Ela sentia que tinha muito com que se alegrar. Estava dando aulas de novo, fazendo aquilo que sabia fazer, abrindo a mente dos jovens para os tesouros intelectuais do mundo em que viviam. Amava Bernd, cuja gentileza e bom humor tornavam todos os dias prazerosos. Os dois eram livres para ler o que quisessem, pensar o que bem entendessem e dizer o que melhor lhes aprouvesse, sem ter de se preocupar com espiões da polícia. Rebecca também tinha um objetivo a longo prazo. Ansiava por tornar a ver a família algum dia. Não sua família original; a lembrança dos pais biológicos, apesar de emocionalmente forte, era distante e vaga. Mas Carla a resgatara dos horrores da guerra e a fizera se sentir
segura e amada, mesmo quando todos passavam fome, frio e medo. Ao longo dos anos, a casa em Mitte tinha se enchido com pessoas que a amavam e que ela também amava: o bebê Walli, depois seu novo pai, Werner, e em seguida uma nenenzinha, Lili. Até mesmo a avó Maud, aquela velha senhora inglesa extremamente digna, tinha amado e cuidado de Rebecca. Iria reencontrá-los quando todos os alemães ocidentais pudessem se reunir a todos os alemães-orientais. Muitas pessoas achavam que esse dia jamais iria chegar, e talvez tivessem razão. Mas Carla e Werner haviam lhe ensinado que, se você quisesse mudanças, precisava tomar atitudes políticas para conquistá-las. – Na minha família, apatia não é uma opção – dissera ela a Bernd. Assim, os dois haviam se filiado ao Partido Democrático Livre, que, apesar de liberal, não era tão socialista quando o Partido Social Democrata de Willy Brandt. Rebecca era secretária de divisão, e Bernd, tesoureiro. Na Alemanha Ocidental, as pessoas podiam ser do partido que quisessem, com exceção do Partido Comunista, que era ilegal. Rebecca era contra essa proibição. Apesar de odiar o comunismo, achava que bani-lo era um gesto tipicamente comunista, não democrático. Todos os dias, ela e Bernd iam juntos para o trabalho, de carro. Voltavam depois das aulas, e Bernd punha a mesa enquanto ela preparava o jantar. Em alguns dias, depois de comerem, o massagista de Bernd aparecia. Como ele não podia mexer as pernas, elas precisavam ser massageadas com regularidade para melhorar a circulação e evitar, ou pelo menos adiar, que nervos e músculos definhassem. Rebecca tirava a mesa enquanto o marido ia para o quarto com Heinz. Nessa noite, ela se sentou com uma pilha de cadernos de exercícios e começou a corrigilos. Pedira aos alunos que escrevessem um anúncio imaginário sobre as atrações de Moscou como destino turístico. Eles gostavam de trabalhos bem-humorados. Uma hora depois, Heinz foi embora e ela entrou no quarto. Bernd estava deitado na cama, nu. A parte superior de seu corpo era bem musculosa, pois ele precisava usar os braços constantemente para se movimentar. Já as pernas, finas e brancas, pareciam as de um velho. Em geral, a massagem lhe proporcionava um bem-estar tanto físico quanto mental. Rebecca se inclinou por cima dele e o beijou na boca, um beijo lento, demorado. – Eu te amo – falou. – Estou tão feliz por ser casada com você... Dizia isso com frequência, primeiro porque era verdade, mas também porque ele precisava ouvir: sabia que de vez em quando ele se perguntava como ela podia amar um aleijado. Em pé na sua frente, tirou a roupa. Ele gostava de vê-la fazer isso, dizia, ainda que nunca ficasse excitado. Ela havia aprendido que os paraplégicos raramente tinham ereções psicogênicas, do tipo provocado por imagens ou pensamentos sensuais. Mesmo assim, seus olhos a observaram com evidente satisfação enquanto ela abria o sutiã, tirava as meias finas e a calcinha. – Você está linda.
– E sou toda sua. – Que sorte eu tenho. Ela se deitou ao seu lado e os dois começaram a se acariciar langorosamente. Antes e depois do acidente, o sexo com Bernd sempre fora baseado em beijos suaves e carinhos sussurrados, não apenas na penetração. Nisso ele era bem diferente do seu primeiro marido. Hans seguia sempre o mesmo esquema: beijar, tirar a roupa, ficar de pau duro, gozar. A filosofia de Bernd era o que você quiser, na ordem que preferir. Depois de algum tempo, ela montou nele e se posicionou para ele poder beijar seus seios e chupar os mamilos. Ele havia adorado aqueles seios desde o início, e agora os saboreava com a mesma intensidade e deleite de antes do acidente; isso a excitava mais do que tudo. Quando se sentiu pronta, ela perguntou: – Você quer tentar? – Claro. A gente deve tentar sempre. Ela chegou um pouco para trás até ficar sentada em cima das pernas murchas de Bernd e curvou-se sobre o seu sexo, começando a manipulá-lo. O órgão cresceu um pouco, e ele teve o que se chama de ereção por reflexo. Durante alguns instantes, ficou duro o suficiente para penetrá-la, mas logo tornou a amolecer. – Não faz mal – disse ela. – Eu não ligo – falou ele, mas Rebecca sabia que não era verdade. Bernd adoraria ter um orgasmo. E queria ter filhos, também. Ela se deitou ao seu lado, segurou sua mão e a guiou até sua vagina. Ele posicionou os dedos do jeito que ela havia lhe ensinado, e ela então pressionou a mão dele com a sua e começou a movê-la em um ritmo constante. Era como se masturbar, só que usando a mão dele. Com a outra mão, Bernd acariciava seus cabelos. Funcionou, como sempre funcionava, e Rebecca teve um orgasmo delicioso. Depois de gozar, deitada ao lado dele, falou: – Obrigada. – De nada. – Não só por isso. – Por que mais, então? – Por ter vindo comigo. Por ter fugido. Nunca vou ser capaz de dizer quanto sou grata a você. – Que bom. A campainha tocou. Eles se entreolharam, intrigados: não estavam esperando ninguém. – Vai ver Heinz esqueceu alguma coisa – disse Bernd. Rebecca sentiu uma leve irritação. Seu prazer tinha evaporado. Vestiu um roupão e foi até a porta, mal-humorada. Deu de cara com Walli. Seu irmão estava magro e cheirava mal. Vestia uma calça jeans, tênis americanos e uma camiseta encardida, e estava sem casaco. Segurava uma guitarra e
mais nada. – Oi, Rebecca. O mau humor dela desapareceu num passe de mágica. Ela abriu um largo sorriso. – Walli! Que surpresa maravilhosa! Como estou feliz por ver você! Recuou um passo para deixá-lo entrar no hall. – O que está fazendo aqui? – perguntou. – Vim morar com vocês – respondeu ele.
CAPÍTULO VINTE E DOIS
A cidade mais racista dos Estados Unidos devia ser Birmingham, no Alabama. Em abril de 1963, George Jakes pegou um avião para lá. A lembrança estava muito viva na sua mente: da última vez que estivera no Alabama, tinham tentado matá-lo. Birmingham era uma cidade industrial suja que, do avião, exibia uma delicada aura cor-derosa por causa da poluição, como um lenço de chifon em volta do pescoço de uma velha prostituta. George sentiu a hostilidade assim que atravessou o saguão do aeroporto. Era o único negro de terno. Lembrou-se do ataque sofrido por ele, Maria e os outros Viajantes da Liberdade em Anniston, a apenas 100 quilômetros dali: as bombas, os tacos de beisebol, os pedaços de corrente girando no ar, e sobretudo os rostos contorcidos e deformados até virarem máscaras de ódio e loucura. Saiu do aeroporto, localizou o ponto de táxi e entrou no primeiro carro da fila. – Fora deste carro, garoto – disse o motorista. – Como é? – Não dirijo para crioulo nenhum. George suspirou. Relutou em descer do táxi. Teve vontade de ficar sentado ali, em protesto. Não gostava de facilitar a vida dos racistas. Mas tinha um trabalho a fazer em Birmingham, e não poderia fazê-lo na prisão. Por isso, desceu. Em pé junto à porta aberta do táxi, olhou para o resto da fila. O carro seguinte tinha um motorista branco, e ele supôs que fosse receber o mesmo tratamento. Então, três carros adiante, um braço marrom-escuro esticou-se pela janela e lhe acenou. Ele se afastou do primeiro táxi. – Feche a porta! – berrou o motorista. Depois de hesitar um instante, George respondeu: – Não fecho a porta para segregacionista nenhum. Não era uma resposta muito boa, mas mesmo assim lhe proporcionou uma pequena satisfação, e ele foi embora deixando a porta escancarada. Entrou no carro do taxista negro. – Até já sei para onde o senhor vai – disse o sujeito. – Para a Igreja Batista da Rua 16. Era lá que ficava o quartel-general do veemente pregador Fred Shuttlesworth, que havia fundado o Movimento Cristão do Alabama pelos Direitos Civis depois que os tribunais do estado tornaram ilegal a moderada NAACP. Obviamente, partia-se do princípio de que qualquer negro que chegasse ao aeroporto era um ativista de direitos civis. Mas George não estava indo à igreja.
– Motel Gaston, por gentileza. – Sei onde fica o Gaston – disse o motorista. – Assisti ao Little Stevie Wonder no saguão de lá. Fica só a um quarteirão da igreja. O dia estava quente e o táxi não tinha ar-condicionado. George abaixou a janela e deixou o vento refrescar sua pele suada. Tinha sido mandado a Birmingham por Bobby Kennedy com um recado para Martin Luther King: pare de fazer pressão, esfrie a situação, acabe com os protestos; as coisas estão mudando. Tinha a sensação de que o Dr. King não iria gostar. O Gaston era um hotel moderno, com poucos andares. O dono, A. G. Gaston, era um exmineiro de carvão que havia se transformado no principal homem de negócios negro da cidade. George sabia que ele estava nervoso com as perturbações que a campanha de King causavam em Birmingham, mas ainda assim apoiava o reverendo. O táxi de George passou pela entrada e entrou no estacionamento. Martin Luther King estava no quarto 30, a única suíte do hotel, mas, antes de se encontrar com ele, George foi almoçar com Verena Marquand no restaurante Jockey Boy, ali perto. Quando pediu seu hambúrguer ao ponto para malpassado, a garçonete o olhou como se ele estivesse falando uma língua estrangeira. Verena pediu uma salada. Estava mais atraente do que nunca, de calça e blusa pretas. Será que está namorando?, pensou George. – Você está indo ladeira abaixo – comentou enquanto esperavam a comida. – Primeiro Atlanta, agora Birmingham. Vá para Washington, senão vai acabar indo parar em Mudslide, Mississippi. Ele estava brincando, mas de fato achava que, se ela fosse para Washington, talvez a chamasse para sair. – Eu vou aonde o movimento me leva – respondeu ela, séria. Seus pratos chegaram. – Por que King decidiu escolher esta cidade como alvo? – perguntou George enquanto comiam. – O comissário de Segurança Pública, que na prática manda na polícia, é um branco racista e cruel chamado Eugene Connor. O apelido dele é Bull, “touro”. – Já vi o nome dele no jornal. – O apelido diz tudo o que você precisa saber sobre o cara. Como se não bastasse, Birmingham também tem a divisão mais violenta da Ku Klux Klan. – Algum palpite sobre o motivo? – Esta cidade vive da produção do aço, e essa indústria está em declínio. Os empregos qualificados e mais bem remunerados sempre foram reservados para os brancos, enquanto os negros realizavam serviços mal pagos, como faxinas, por exemplo. Agora os brancos estão desesperados tentando manter sua prosperidade e seus privilégios, bem na hora em que os negros estão exigindo seu justo quinhão.
Era uma análise certeira, e o respeito de George por Verena cresceu um pouco mais. – E como isso se manifesta? – Integrantes da Ku Klux Klan jogam bombas caseiras nas casas de negros ricos em bairros mistos. Há quem chame a cidade de Bombingham. Nem é preciso dizer que a polícia nunca prende ninguém e que, por algum motivo, o FBI é incapaz de descobrir quem pode estar fazendo isso. – Não é nenhuma surpresa. J. Edgar Hoover também não consegue encontrar a Máfia. Mas ele sabe o nome de todos os comunistas do país. – Só que o poder dos brancos aqui está em declínio. Algumas pessoas estão começando a perceber que ele não faz nenhum bem à cidade. Bull Connor acabou de perder uma eleição para prefeito. – Eu sei. A opinião da Casa Branca é que os negros vão conseguir o que querem oportunamente, se tiverem paciência. – Já o Dr. King pensa que agora é a hora de aumentar a pressão. – E que resultado isso está tendo? – Para ser sincera, estamos decepcionados. Quando nos sentamos no balcão de alguma lanchonete, as garçonetes apagam as luzes e dizem que lamentam, mas estão fechando. – Estratégia esperta. Algumas cidades agiram de forma parecida com os Viajantes da Liberdade: em vez de criar confusão, simplesmente ignoraram o que estava acontecendo. Só que a maioria dos segregacionistas é incapaz de tanto autocontrole, e eles logo voltaram a espancar as pessoas. – Bull Connor não quer nos autorizar a fazer passeatas, então nossos protestos são ilegais e, em geral, os manifestantes são presos, mas não em número tão grande a ponto de chegar ao noticiário nacional. – Então talvez esteja na hora de mudar de tática. Uma jovem negra entrou no café e foi até sua mesa. – O reverendo está livre para recebê-lo agora, Sr. Jakes. George e Verena largaram os pratos pela metade. Como no caso do presidente, ninguém deixava o Dr. King esperando enquanto terminava o que fazia. Voltaram para o Gaston e subiram a escada até a suíte do reverendo. Como sempre, ele estava de terno escuro; parecia indiferente ao calor. Mais uma vez, George ficou impressionado com sua baixa estatura e com sua beleza. Dessa vez King se mostrou menos ressabiado e mais hospitaleiro. – Sente-se, por favor – falou, acenando para um sofá. Mesmo quando as palavras eram ferinas, sua voz se mantinha suave. – O que o secretário de Justiça tem para me dizer que não pode falar ao telefone? – Ele quer que o senhor considere a possibilidade de adiar sua campanha aqui no Alabama. – Por algum motivo, isso não me espanta.
– Ele apoia o que o senhor está tentando alcançar, mas teme que os protestos sejam inoportunos. – Por quê? – Bull Connor acaba de perder a eleição para prefeito para Albert Boutwell. O governo da cidade foi renovado. Boutwell é reformista. – Há quem pense que Boutwell é apenas uma versão mais digna de Bull Connor. – Reverendo, pode até ser, mas Bobby gostaria que o senhor desse a Boutwell uma chance de mostrar a que veio... para o bem ou para o mal. – Entendo. Então o recado é: espere. – Sim, reverendo. King olhou para Verena, como se a estivesse convidando a se pronunciar, mas ela não disse nada. Após alguns instantes, ele falou: – Em setembro passado, os comerciantes de Birmingham prometeram retirar de suas lojas os humilhantes cartazes de “Somente brancos”, e em troca Fred Shuttlesworth concordou em suspender os protestos. Nós mantivemos nossa promessa, mas os comerciantes não cumpriram a sua parte. Como tantas vezes acontece, nossas esperanças foram destroçadas. – Lamento – disse George. – Mas... King ignorou a interrupção: – A ação direta não violenta busca criar tamanha tensão e sentimento de crise que uma comunidade é forçada a enfrentar a questão e entabular uma negociação sincera. O senhor está me pedindo que dê a Boutwell tempo de mostrar qual é a sua verdadeira postura. Ele pode até ser menos brutal do que Connor, mas é um segregacionista decidido a manter o status quo. Precisa ser instigado a agir. A argumentação era tão racional que George não conseguiu nem fingir discordar, embora a probabilidade de conseguir fazer King mudar de ideia estivesse diminuindo rapidamente. – Nós nunca obtivemos nada no campo dos direitos civis sem pressão – continuou o reverendo. – Para falar francamente, George, eu nunca realizei nenhuma campanha que fosse “oportuna” para homens como Bobby Kennedy. Faz muitos anos que ouço a mesma coisa: “Espere.” A palavra ecoa em meus ouvidos com uma familiaridade estridente. Esse “Espere” significa “Nunca”. Já faz 340 anos que estamos esperando nossos direitos. As nações africanas estão avançando rumo à independência na mesma velocidade de um jato, mas nós ainda nos arrastamos a passo de mula para conseguir tomar uma xícara de café em um balcão de lanchonete. George percebeu que estava escutando o ensaio de um sermão, mas nem por isso seu fascínio diminuiu. Já tinha abandonado qualquer esperança de cumprir a missão que Bobby lhe confiara. – Nosso grande obstáculo na marcha rumo à liberdade não é o Conselho de Cidadãos Brancos nem o integrante da Ku Klux Klan. É, antes, o branco moderado para quem a ordem é mais importante do que a justiça e que vive dizendo, como Bobby Kennedy: “Eu concordo
com o objetivo que vocês estão buscando, mas não posso aprovar seus métodos.” Com uma visão paternalista, ele acredita poder criar um cronograma para a liberdade alheia. George então sentiu vergonha por estar ali como mensageiro de Bobby. – Nossa geração vai ter de se arrepender não apenas das palavras de ódio e das ações dos maus, mas do silêncio devastador dos bons – disse King, e George teve de conter as lágrimas. – A hora é sempre oportuna para fazer o que é certo. “Que a justiça flua feito água, e a retidão feito um riacho que nunca seca”, disse o profeta Amós. Pode dizer isso a Bobby Kennedy, George. – Direi, reverendo.
De volta a Washington, George ligou para Cindy Bell, a moça pela qual sua mãe havia tentado fazê-lo se interessar, e a convidou para sair. – Por que não? – respondeu ela. Seria seu primeiro encontro desde que terminara com Norine Latimer na esperança frustrada de namorar Maria Summers. No sábado seguinte, à tarde, pegou um táxi até a casa de Cindy. Ela ainda morava com os pais em uma pequena casa da classe operária. O pai veio abrir a porta. Tinha a barba cerrada, e George pensou que decerto um chefe de cozinha não precisava ter um aspecto lá muito asseado. – Prazer em conhecê-lo, George – disse ele. – Sua mãe é uma das melhores pessoas que já conheci. Espero que não se importe por eu fazer um comentário tão pessoal. – Obrigado, Sr. Bell. Eu concordo com o senhor. – Pode entrar, Cindy está quase pronta. George reparou em um pequeno crucifixo na parede do corredor e lembrou que a família Bell era católica. Recordou ter ouvido dizer, quando adolescente, que as garotas de escolas religiosas eram as mais safadas. Cindy apareceu usando um suéter justo e uma saia curta que fizeram seu pai franzir um pouco a testa, embora não tenha comentado nada. George teve de reprimir um sorriso. A moça tinha curvas e não queria escondê-las. Uma cruzinha de prata pendia de uma corrente entre seus seios fartos – para proteção, quem sabe? Ele lhe entregou uma pequena caixa de chocolates amarrada com uma fita azul. Fora da casa, ela arqueou as sobrancelhas ao ver o táxi. – Vou comprar um carro – disse ele. – Só não tive tempo ainda. A caminho do centro, Cindy falou: – Meu pai admira sua mãe por ter criado você sozinha tão bem. – E eles emprestam livros um ao outro. Sua mãe não acha ruim? Ela riu. Naturalmente, pensar que a geração de seus pais pudesse sentir ciúmes era cômico.
– Você é esperto. Mamãe sabe que não há nada entre eles, mas mesmo assim está atenta. George ficou feliz por ter chamado Cindy para sair. Ela era inteligente e simpática, e ele estava começando a imaginar como seria agradável beijá-la. A lembrança de Maria se apagou de sua mente. Foram a um restaurante italiano. Cindy confessou que adorava todo tipo de massa. Pediram um tagliatelle com cogumelos, depois escalopes de vitela ao molho de xerez. Apesar de ser formada na Universidade de Georgetown, ela lhe disse que estava trabalhando como secretária para um corretor de seguros negro. – Mesmo as garotas que fizeram faculdade continuam sendo contratadas como secretárias – comentou. – Eu gostaria de trabalhar para o governo. Sei que as pessoas acham isso chato, mas é Washington que comanda este país todo. Infelizmente, o governo em geral contrata brancos para os cargos mais importantes. – Verdade. – Como você conseguiu chegar aonde está? – Bobby Kennedy queria um rosto negro na equipe, para lhe dar credibilidade em relação aos direitos civis. – Quer dizer que você é um símbolo? – No começo era. Agora melhorou. Depois do jantar, foram assistir ao último filme de Hitchcock com Tippi Hedren e Rod Taylor, Os pássaros. Durante as cenas mais assustadoras, Cindy se agarrou a George de um jeito que ele achou delicioso. Na saída, eles discordaram amigavelmente sobre o final do filme. Cindy detestou. – Fiquei tão decepcionada! – disse ela. – Estava esperando uma explicação. – Nem tudo na vida tem explicação – comentou George, dando de ombros. – Tem, sim, mas às vezes a gente não sabe. Foram tomar uma saideira no bar do Hotel Fairfax. Ele pediu um uísque, ela, um daiquiri. O crucifixo de prata chamou a atenção de George. – É só uma joia ou algo mais? – perguntou ele. – Algo mais. Ele faz com que eu me sinta segura. – Segura... de alguma coisa específica? – Não. Só me protege de modo geral. George estranhou. – Você não acredita nisso, acredita? – Qual o problema? – Ahn... não quero ofender se estiver sendo sincera, mas me parece superstição. – Pensei que você fosse religioso. Você vai à igreja, não vai? – Acompanho minha mãe porque é importante para ela e eu a amo. Para deixá-la feliz, sou capaz de cantar hinos, ouvir rezas e escutar um sermão, mas tudo isso me parece apenas... uma bobagem.
– Você não acredita em Deus? – Acho que provavelmente deve existir alguma inteligência que controla o universo, um ser que decide as regras, como E=MC2 ou o valor de pi. Mas esse ser provavelmente não liga se nós o louvamos ou não. Duvido que as suas decisões possam ser manipuladas rezando para uma estátua da Virgem Maria, e não acredito que ele vá lhe dar algum tratamento especial só pelo que você usa pendurado no pescoço. – Ah. Ele viu que a havia chocado. Percebeu que tinha argumentado como durante uma reunião na Casa Branca, onde as questões eram importantes demais para alguém se importar com os sentimentos alheios. – Eu provavelmente não deveria ter sido tão direto – falou. – Está ofendida? – Não – respondeu ela. – Que bom que você me disse. – Ela terminou o drinque. George pôs o dinheiro sobre o balcão e desceu do banco. – Gostei de conversar com você – falou. – Bom filme, final decepcionante – comentou ela. Era um bom resumo da noite. Ela era simpática e bonita, mas ele não se via caindo de amores por uma mulher cujas crenças em relação ao universo eram tão diferentes das suas. Saíram e pegaram um táxi. No caminho de volta, George percebeu que no fundo não estava triste pelo fato de o encontro não ter dado certo. Ainda não tinha esquecido Maria por completo. Perguntou-se quanto tempo ainda precisaria para isso. Quando chegaram à casa de Cindy, ela falou: – Obrigada pela ótima noite. – Deu-lhe um beijo na bochecha e desceu. No dia seguinte, Bobby mandou George de volta ao Alabama.
Ao meio-dia de sexta-feira, 3 de maio de 1963, George e Verena estavam no Parque Kelly Ingram, no coração da parte negra de Birmingham. Do outro lado da rua ficava a famosa Igreja Batista da Rua 16, magnífico prédio bizantino de tijolos vermelhos projetado por um arquiteto negro. O parque estava coalhado de ativistas de direitos civis, observadores e pais ansiosos. Dava para ouvir a música dentro da igreja: “Ain’t Gonna Let Nobody Turn Me Round”. Mil secundaristas negros se preparavam para marchar. A leste do parque, as avenidas que conduziam ao centro estavam interditadas por centenas de policiais. Bull Connor havia requisitado ônibus escolares para levar os manifestantes até a prisão, e havia cães bravos para o caso de alguém resistir. Além da polícia, estavam presentes também bombeiros munidos de mangueiras. Não havia nenhum negro na polícia nem nos bombeiros. Os ativistas de direitos civis sempre pediam permissão para as passeatas, como mandava a
lei, mas a permissão era sempre negada. Quando faziam a passeata mesmo assim, eram detidos e presos. Por esse motivo, a maioria dos negros de Birmingham relutava em participar dos protestos, o que permitia ao governo integralmente branco da cidade alegar que o movimento de Martin Luther King tinha pouco apoio. O próprio King tinha sido preso exatamente três semanas antes, na Sexta-feira da Paixão. George ficara impressionado com a ignorância dos segregacionistas: será que eles por acaso não sabiam quem mais tinha sido preso naquela mesma sexta-feira? Por pura maldade, King fora posto na solitária. Só que a prisão do reverendo quase não saíra nos jornais. Um negro maltratado por exigir seus direitos de cidadão americano não era notícia. Em uma carta amplamente divulgada pela imprensa, ele foi criticado por religiosos brancos. Da prisão, escreveu uma resposta que chegava a fumegar de tanta retidão moral. Nenhum jornal noticiou a resposta, embora talvez ainda viesse a fazê-lo. De modo geral, a campanha tinha sido pouco noticiada. Os adolescentes negros de Birmingham estavam loucos para participar dos protestos e King acabara permitindo a participação dos secundaristas, mas nada mudara: Bull Connor simplesmente prendia as crianças e ninguém ligava. O som do canto dentro da igreja era emocionante, mas não bastava. Assim como a vida amorosa de George, a campanha de Martin Luther King em Birmingham não estava indo a lugar algum. Ele observou os bombeiros nas ruas a leste do parque. Eles agora tinham um novo tipo de arma, um implemento no qual a água parecia entrar por duas mangueiras e sair por uma só. Aquilo devia gerar um jato superpotente. O fato de estar montado sobre um tripé dava a entender que era potente demais para um homem segurar. George ficou feliz por ser apenas um observador, e não um participante do protesto. Desconfiava que aquele jato faria mais do que encharcar as pessoas. As portas da igreja se abriram de supetão e um grupo de secundaristas irrompeu pelos três arcos ainda cantando. Eles estavam vestidos com suas melhores roupas de domingo. Desceram o comprido e largo lance de escada até a rua. Eram uns sessenta, mas George sabia que constituíam apenas a primeira parte: centenas de outros aguardavam lá dentro. A maioria estava no último ano do ginásio, e havia alguns alunos mais novos. George e Verena os seguiram de longe. A multidão que assistia do parque assobiou e aplaudiu ao vê-los desfilar pela Rua 16, passando diante de lojas e empresas cujos donos eram, em sua maioria, negros. Viraram na Quinta Avenida e chegaram à esquina da Rua 17, onde seu caminho foi interrompido pelas barricadas da polícia. Um capitão falou em um megafone: – Dispersem, saiam da rua! – Apontou para os bombeiros mais atrás. – Senão vão se molhar! Em ocasiões anteriores, a polícia simplesmente reunira os manifestantes em caminhonetes
e ônibus e os levara para a prisão. Mas agora George sabia que as cadeias estavam superlotadas e que Bull Connor queria minimizar as prisões; preferiria que voltassem todos para casa. Só que isso era a última coisa que aqueles estudantes iriam fazer. Os sessenta jovens ficaram em pé no meio da rua, em frente às autoridades brancas reunidas, cantando a plenos pulmões. O capitão de polícia fez um gesto para os bombeiros, que ligaram a mangueira. George reparou que estavam usando mangueiras normais, não o canhão d’água montado no tripé. Mesmo assim, o jato empurrou a maior parte dos manifestantes para trás, e fez observadores saírem correndo pelo parque para se abrigarem em vãos de porta. Pelo alto-falante, o capitão repetia: – Evacuem a área! Evacuem a área! A maioria dos manifestantes recuou, mas não todos. Dez simplesmente sentaram no chão. Já encharcados até os ossos, ignoraram as mangueiras e continuaram cantando. Foi então que os bombeiros acionaram o canhão d’água. O efeito foi instantâneo. Em vez de um jorro desagradável, porém inofensivo, os estudantes sentados foram atingidos por um jato de alta potência. Jogados para trás, gritaram de dor. Seu canto se transformou em berros de medo. A menor do grupo era uma garotinha, que a água levantou do chão e arremessou para trás. Ela rolou pela rua feito uma folha soprada, impotente, agitando braços e pernas. As pessoas em volta começaram a gritar e xingar. George soltou um palavrão e correu para a rua. Os bombeiros insistiram em mirar na menina a mangueira montada no tripé, impedindo-a de escapar de sua força. Estavam tentando levá-la para longe, como se ela fosse lixo. George foi o primeiro de vários homens a alcançá-la. Postou-se entre ela e a mangueira, de costas para o jato. Foi como levar um soco. A água o fez cair de joelhos, mas a menina, agora protegida, levantou-se e saiu correndo em direção ao parque. Só que a mangueira foi atrás e a derrubou no chão outra vez. George ficou furioso. Os bombeiros pareciam cães de caça derrubando um filhote de cervo. Gritos de protesto dos observadores lhe informaram que eles também estavam indignados. Ele saiu correndo atrás da menina e tornou a protegê-la. Dessa vez estava preparado para o impacto do jato, e conseguiu manter o equilíbrio. Ajoelhou-se para pegá-la no colo. Seu vestido de missa cor-de-rosa estava todo encharcado. Carregando-a nos braços, George cambaleou em direção à calçada. Os bombeiros o perseguiram com o jato, tentando derrubá-lo outra vez, mas ele conseguiu se manter em pé por tempo suficiente para chegar ao outro lado de um carro estacionado. Pôs a menina no chão. Aterrorizada, ela não parava de gritar.
– Tudo bem, você está segura agora – falou, mas ela não se deixou consolar. Então uma mulher aflitíssima chegou correndo e a pegou no colo. A menina se agarrou à mulher, e George calculou que fosse sua mãe. Aos prantos, a mulher a levou embora. Ferido e ensopado, George se virou para ver o que estava acontecendo. Todos os manifestantes eram treinados em protestos não violentos, mas os observadores furiosos, não, e ele viu que estes agora retaliavam jogando pedras nos bombeiros. Aquilo estava se transformando em um motim. Ele não conseguiu localizar Verena. Policiais e bombeiros avançavam pela Quinta Avenida tentando dispersar a multidão, mas seu avanço era impedido pelos objetos atirados. Vários homens entraram nos prédios do lado sul da rua e começaram a bombardear a polícia das janelas dos andares superiores com pedras, garrafas e lixo. George se afastou da confusão depressa. Parou na esquina seguinte, em frente ao restaurante Jack Boy, e ficou ali junto com um pequeno grupo de jornalistas e observadores, tanto negros quanto brancos. Ao olhar para o norte, viu outros jovens manifestantes saírem da igreja e pegarem ruas diferentes em direção ao sul para evitar a violência. Aquilo criaria um problema para Bull Connor, pois o obrigaria a dividir suas forças. Connor reagiu mandando soltar os cachorros. Os bichos saíram das caminhonetes rosnando, mostrando os dentes, puxando as guias de couro. Os homens que os conduziam pareciam igualmente cruéis: brancos parrudos, com quepes da polícia e óculos escuros. Tanto os cães quanto eles eram animais loucos para atacar. Policiais e cachorros avançaram em bando. Manifestantes e observadores tentaram fugir, mas a multidão na rua agora estava compacta e muitas pessoas não conseguiram se afastar. Histéricos de tanta excitação, os cães abocanhavam, mordiam e tiravam sangue das pernas e dos braços das pessoas. Algumas, perseguidas pela polícia, fugiram para oeste em direção às profundezas do bairro negro. Outras buscaram abrigo na igreja. George viu que nenhum outro manifestante emergia mais dos três arcos: o protesto ia chegando ao fim. Mas a polícia ainda não estava satisfeita. Surgidos do nada, dois policiais com cães apareceram ao lado de George. Um deles agarrou um adolescente negro alto, no qual George havia reparado por estar usando um cardigã de aspecto caro. O rapaz devia ter uns 15 anos, e sua única participação no protesto fora como observador. Mesmo assim, os policiais o fizeram se virar, e o cachorro deu um pulo e cravou os dentes no tronco do rapaz, que soltou um grito de medo e de dor. Um dos jornalistas tirou uma foto. George estava prestes a intervir quando o policial puxou o cachorro, depois prendeu o rapaz por desfilar sem autorização. George reparou em um branco barrigudo de camisa e sem paletó assistindo à prisão.
Reconheceu Bull Connor das fotos que vira nos jornais. – Por que você não trouxe um cachorro mais bravo? – perguntou Connor ao policial que efetuava a prisão. George teve ganas de repreendê-lo. Ele teoricamente era o comissário de Segurança Pública, mas estava agindo como um arruaceiro. Entendeu, porém, que ele próprio corria o risco de ser preso, sobretudo agora que seu terno elegante havia se transformando em um trapo encharcado. Bobby Kennedy não ficaria nada contente se ele fosse parar na cadeia. Com esforço, reprimiu a raiva que sentia, fechou a boca, virou-se e voltou a pé depressa para o Gaston. Felizmente, tinha levado outra calça na mala. Tomou uma chuveirada, vestiu roupas secas e mandou o terno para a tinturaria. Ligou para o Departamento de Justiça e ditou a uma secretária seu relatório sobre os acontecimentos do dia para o chefe. Fez um relato seco, sem emoção, e omitiu o fato de ter sido atingido pela mangueira. Tornou a encontrar Verena no lobby do hotel. Ela havia escapado ilesa, mas parecia abalada. – Eles podem fazer o que quiserem conosco! – exclamou, e sua voz tinha um quê de histeria. George pensava a mesma coisa, mas para ela era pior. Ao contrário dele, Verena não tinha participado da Viagem da Liberdade, e ele calculou que aquela fosse a primeira vez que via o ódio racial manifestado em todo seu horror e crueza. – Me deixe pagar um drinque para você – falou, e os dois foram até o bar. George passou a hora seguinte tentando acalmá-la. O que mais fez foi escutar; de vez em quando, fazia algum comentário compreensivo ou reconfortante e, acalmando a si mesmo, ajudou-a a se acalmar. O esforço serviu para controlar seu próprio arrebatamento. Os dois jantaram juntos tranquilamente no restaurante do hotel. Quando subiram, havia acabado de escurecer, e no corredor Verena disse: – Quer ir para o meu quarto? George ficou surpreso. A noite não tinha sido sensual nem romântica, e ele não havia considerado aquilo um encontro. Eles eram só dois ativistas consolando um ao outro. A moça percebeu sua hesitação. – Só queria alguém para me abraçar. Tudo bem? Apesar de não ter certeza se tinha entendido, ele assentiu. A imagem de Maria surgiu em sua mente. Ele a reprimiu. Estava na hora de esquecê-la. Uma vez no quarto, Verena fechou a porta e lhe deu um abraço. Ele apertou o corpo dela junto ao seu e a beijou na testa. Ela virou o rosto e encostou a bochecha no seu ombro. Está bem, pensou ele; você quer abraçar, mas não quer beijar. Decidiu simplesmente deixá-la tomar a iniciativa. O que ela quisesse por ele estaria bom. Um minuto depois, ela disse:
– Não quero dormir sozinha. – Ok – respondeu ele, neutro. – A gente pode ficar só abraçado? – Pode – disse ele, embora não acreditasse que era isso que iria acontecer. Ela se afastou do abraço. Então, com gestos rápidos, tirou os sapatos e puxou o vestido por cima da cabeça. Estava de calcinha e sutiã brancos. George ficou encarando aquela pele perfeita, lisinha. Ela tirou a roupa de baixo em poucos segundos. Tinha seios pequenos e firmes, com mamilos pequeninos. Seus pelos pubianos tinham reflexos ruivos. Era de longe a mulher mais linda que George já vira nua. Ele viu isso tudo de relance, porque ela entrou na cama imediatamente. George se virou e tirou a camisa. – Suas costas! – exclamou ela. – Ai, meu Deus! Que horror! Ele estava dolorido nos pontos em que fora atingido pela mangueira, mas não lhe ocorrera que o estrago pudesse ser visível. Ficou de costas para o espelho ao lado da porta e olhou por cima do ombro. Então entendeu a reação de Verena: suas costas estavam cobertas de hematomas roxos. Tirou os sapatos e as meias devagar. Seu pau ficou duro e ele torceu para a ereção ir embora, mas não foi; era mais forte do que ele. Levantou-se, tirou a calça e a cueca e entrou na cama tão depressa quanto ela havia entrado. Abraçaram-se. Seu pau duro encostou na barriga de Verena, mas ela não reagiu. Ele podia sentir os cabelos dela fazerem cócegas em seu pescoço e os seios espremidos contra seu peito. Apesar de muito excitado, seu instinto lhe disse para não fazer nada, e ele obedeceu. Verena começou a chorar. No início foram só uns gemidinhos, que George não soube ao certo se tinham conotação sexual. Então sentiu no peito as lágrimas mornas, e os soluços começaram a sacudir o corpo dela. Ele afagou suas costas com o gesto universal de quem reconforta. Parte de sua mente se maravilhou com o que estava acontecendo. Ali estava ele na cama com uma mulher linda, nu, e tudo o que conseguia fazer era afagar suas costas. Em um nível mais profundo, porém, aquilo fazia sentido. George teve a vaga mas segura sensação de que os dois estavam compartilhando um tipo de reconforto mais forte do que o sexo. Estavam ambos tomados por uma intensa emoção, muito embora ele não soubesse que nome lhe dar. Aos poucos, os soluços de Verena foram diminuindo. Depois de algum tempo, seu corpo relaxou, a respiração se tornou regular e rasa, e ela se entregou ao sono. A ereção de George passou. Ele fechou os olhos e se concentrou no calor do corpo dela junto ao seu e no leve aroma feminino irradiado por sua pele e seus cabelos. Com uma mulher daquela nos braços, tinha certeza de que não conseguiria dormir. Mas conseguiu. De manhã, quando acordou, ela já tinha ido embora.
Naquele sábado de manhã, Maria Summers foi trabalhar tomada pelo pessimismo. Enquanto Martin Luther King estava preso no Alabama, a Comissão de Direitos Civis tinha elaborado um relatório chocante sobre os abusos perpetrados contra os negros no Mississippi. Espertamente, porém, o governo Kennedy minimizou o relatório. Um advogado do Departamento de Justiça chamado Burke Marshall escreveu um memorando contrariando as afirmações do relatório; Pierre Salinger, chefe de Maria, tachou suas propostas de extremistas; e a imprensa americana se deixou enganar. E quem estava no comando de tudo aquilo era o homem que Maria amava. Ela acreditava que Jack Kennedy tinha bom coração, mas ele não tirava o olho da próxima eleição. Saíra-se bem nas legislativas do ano anterior: sua forma tranquila de lidar com a crise dos mísseis em Cuba lhe valera popularidade e a lavada republicana prevista fora evitada. Agora, porém, ele estava preocupado com a reeleição no ano seguinte. Não gostava dos segregacionistas do Sul, mas não estava disposto a se sacrificar brigando com eles. Assim, a campanha pelos direitos civis estava perdendo fôlego. O irmão de Maria tinha quatro filhos dos quais ela gostava muito. Quando crescessem, esses sobrinhos, bem como os filhos que ela ainda pudesse vir a ter, virariam cidadãos americanos de segunda categoria. Se fossem ao Sul, teriam dificuldade para encontrar um hotel que os aceitasse. Se entrassem em uma igreja de brancos, seriam convidados a se retirar, a não ser que o pastor fosse liberal e os direcionasse aos bancos somente para negros, numa área especial e isolada. Veriam placas de SÓ BRANCOS nos banheiros públicos, e outras instruindo quem fosse NEGRO a usar um balde no quintal. Perguntariam por que não havia nenhum negro na televisão, e seus pais não saberiam responder. Chegando ao escritório, ela viu os jornais. A manchete do The New York Times estampava uma foto de Birmingham que a fez arquejar, horrorizada. Na imagem, um policial branco segurava na coleira um pastor alemão feroz que mordia um adolescente negro de aspecto inofensivo, enquanto com a outra mão agarrava o menino pelo cardigã. O homem tinha os dentes arreganhados em um esgar ávido e mau, como se também quisesse morder alguém. Nelly Fordham ouviu Maria arquejar e ergueu os olhos do Washington Post. – Horrível, né? – comentou. Muitos outros jornais dos Estados Unidos estampavam a mesma foto na capa, bem como as edições dos jornais estrangeiros que chegavam por via aérea. Maria sentou-se à sua mesa e começou a ler. Constatou com uma centelha de esperança que o tom havia mudado. Não era mais possível para a imprensa apontar o dedo para Martin Luther King e dizer que a sua campanha era inoportuna e que os negros deveriam ter paciência. A história havia mudado graças à química irrefreável da cobertura midiática, processo misterioso que ela aprendera a respeitar e temer. Sua animação aumentou quando começou a desconfiar que os sulistas brancos tinham ido
longe demais. A imprensa agora falava em violência contra crianças nas ruas do país. Ainda citavam pessoas para quem tudo era culpa de King e de seus agitadores, mas o costumeiro tom desdenhoso e confiante dos segregacionistas tinha desaparecido, substituído por um certo quê de negação desesperada. Será que uma foto era capaz de mudar tudo? Salinger entrou na sala. – Pessoal – disse ele. – O presidente leu os jornais de hoje, viu as fotos de Birmingham e ficou nauseado. Ele quer que a imprensa saiba disso. Não é um pronunciamento oficial, só uma declaração informal. A palavra-chave é “nauseado”. Por favor, comecem a divulgar agora mesmo. Maria olhou para Nelly, e ambas ergueram as sobrancelhas. Aquilo era uma mudança. Maria pegou o telefone.
Na segunda-feira de manhã, George se movimentava feito um velho, cautelosamente, tentando minimizar as pontadas de dor. Segundo os jornais, o canhão d’água do Corpo de Bombeiros de Birmingham tinha uma pressão de 18 quilos por centímetro quadrado, e ele estava sentindo todos esses quilos em cada centímetro das próprias costas. Não era o único ferido nessa segunda de manhã. Centenas de manifestantes estavam machucados. Alguns tinham levado mordidas tão feias que precisaram de pontos. Milhares de secundaristas continuavam na prisão. George torceu para que o seu sofrimento se mostrasse útil. Agora havia esperança. Os ricos negociantes brancos de Birmingham queriam o fim do conflito. Ninguém comprava mais nada: a eficácia do boicote às lojas do centro pelos negros fora intensificada pelo temor dos brancos de que eles se envolvessem em algum motim. Mesmo os irredutíveis donos de usinas siderúrgicas sentiam que seus negócios estavam sendo prejudicados pela reputação da cidade como capital mundial do racismo violento. A Casa Branca, por sua vez, estava detestando as manchetes que não paravam de ser publicadas mundo afora. Os jornais estrangeiros, que consideravam o direito dos negros à justiça e à democracia uma coisa natural, não entendiam por que o presidente americano parecia incapaz de aplicar suas próprias leis. Bobby Kennedy despachou Burke Marshall para tentar fazer um acordo com as principais lideranças dos moradores de Birmingham. O assessor de Marshall era Dennis Wilson. George não confiava em nenhum dos dois. Marshall havia minado o relatório da Comissão de Direitos Civis com contestações jurídicas, e Dennis sempre tivera inveja de George. Como a elite branca de Birmingham se recusava a negociar diretamente com Martin Luther King, Dennis e George precisavam agir como intermediários, e Verena representaria King. Burke Marshall queria que o reverendo cancelasse o protesto de segunda-feira. – E reduzir a pressão justo quando estamos conquistando a vantagem? – indagou Verena a
Wilson, incrédula, no luxuoso lobby do Motel Gaston. George concordou com um meneio de cabeça. – De todo modo, a administração municipal não pode fazer nada agora – reagiu Dennis. A prefeitura estava passando por uma crise distinta, embora relacionada: Bull Connor havia recorrido juridicamente contestando sua derrota na eleição, de modo que havia dois homens alegando ser o prefeito. – Quer dizer então que eles estão divididos e enfraquecidos... Ótimo! Se esperarmos até resolverem suas diferenças, eles vão voltar mais fortes e mais determinados. Vocês na Casa Branca não entendem nada de política? Dennis tentou fazer parecer que os ativistas de direitos civis eram confusos em relação às próprias demandas, o que também deixou Verena furiosa. – Temos quatro demandas simples – disse ela. – Um: fim imediato da segregação em lanchonetes, banheiros, bebedouros, e todos os equipamentos dos estabelecimentos comerciais. Dois: contratação e promoção não discriminatória de funcionários negros nas lojas. Três: todos os manifestantes devem ser soltos, e as acusações contra eles, retiradas. Quatro: no futuro, será formado um comitê birracial para negociar o fim da segregação na polícia, nas escolas, nos parques, cinemas e hotéis. – Ela olhou para um Dennis irado. – O que há de confuso nisso? King estava pedindo coisas que deveriam ter sido naturais, mas mesmo assim eram demais para os brancos. Nessa noite, Dennis voltou ao Gaston para comunicar as contrapropostas a George e Verena. Os donos das lojas estavam dispostos a acabar com a segregação nos provadores e em outros equipamentos após um prazo determinado. Cinco ou seis funcionários negros poderiam ser promovidos a “cargos de gravata” assim que as manifestações terminassem. Quanto às pessoas presas, os comerciantes nada podiam fazer, pois aquela era uma questão para os tribunais. A segregação nas escolas e em outros equipamentos municipais deveria ser negociada com o prefeito e o conselho municipal. George ficou contente. Pela primeira vez, os brancos estavam negociando! Verena, porém, desdenhou a proposta: – Isso não é nada. Eles nunca pedem para duas mulheres dividirem o mesmo provador, de modo que os provadores não chegam a ser segregados. E Birmingham tem mais de cinco negros que sabem dar nó em uma gravata. Quanto ao resto... – Eles disseram que não têm poder para reverter as decisões dos tribunais ou mudar as leis. – Por acaso você é ingênuo? – rebateu ela. – Nesta cidade, os tribunais e o conselho municipal são teleguiados pelos negociantes. Bobby Kennedy pediu a George para elaborar uma lista com os nomes e telefones dos mais influentes negociantes da cidade. O presidente lhes telefonaria pessoalmente e diria que eles precisavam ceder e chegar a um meio-termo. George constatou outros sinais animadores. Grandes reuniões realizadas nas igrejas de
Birmingham na segunda-feira arrecadaram espantosos 40 mil dólares em doações para a campanha; o pessoal de King passou a maior parte da noite contando o dinheiro em um quarto de hotel alugado para esse fim. Mais dinheiro ainda estava chegando pelo correio. O movimento em geral vivia com dinheiro contado, mas Bull Connor e seus cachorros tinham causado uma senhora bonança. Verena e o resto do pessoal de King se acomodaram para uma reunião noturna na saleta da suíte do reverendo, para debater como manter a pressão. Como não fora convidado – e não queria ouvir coisas que pudesse se sentir na obrigação de contar a Bobby –, George se recolheu. Pela manhã, às dez, vestiu o terno e desceu para a coletiva de imprensa de King. Encontrou o pátio do hotel abarrotado com mais de uma centena de jornalistas do mundo inteiro, suando sob o sol do Alabama. A campanha de King em Birmingham era uma notícia quente, novamente graças a Bull Connor. – Os acontecimentos em Birmingham nos últimos dias assinalam a maturidade do movimento de não violência – afirmou King. – É a realização de um sonho. George não viu Verena em lugar nenhum, e começou a desconfiar que o mais importante estava acontecendo em algum outro lugar. Saiu do motel e dobrou a esquina até a igreja. Não achou Verena, mas reparou em alunos de escola saindo do subsolo e entrando em carros estacionados na Quinta Avenida. Sentiu que os adultos que os supervisionavam exibiam uma descontração fingida. Esbarrou em Dennis Wilson, que trazia novidades: – O Comitê de Cidadãos Seniores está fazendo uma reunião de emergência na Câmara de Comércio. George já tinha ouvido falar nesse grupo extraoficial, cujo apelido era Grandes Mulas. Eram os homens que detinham o verdadeiro poder na cidade. Se eles estavam entrando em pânico, algo teria de mudar. – O que o pessoal de King está planejando? – indagou Dennis. George ficou aliviado por não saber. – Não fui convidado para a reunião – respondeu. – Mas eles bolaram alguma coisa. Separou-se de Dennis e foi a pé até o centro. Mesmo passeando sozinho, sabia que poderia ser preso por desfilar sem autorização, mas tinha de correr esse risco: não teria utilidade nenhuma para Bobby se ficasse entocado no Gaston. Em dez minutos, chegou ao bairro comercial tipicamente sulista de Birmingham: lojas de departamentos, cinemas, prédios administrativos e uma via férrea correndo pelo meio. Só entendeu qual era o plano de King quando o viu ser posto em ação. De repente, negros que caminhavam sozinhos ou em grupos de dois ou três começaram a se reunir e a brandir cartazes que até então tinham mantido escondidos. Alguns se sentaram, interditando a calçada, enquanto outros se ajoelharam para rezar nos degraus da imensa sede art déco da prefeitura. Filas de adolescentes entravam e saíam cantando de lojas segregadas.
O tráfego parou quase por completo. Os policiais foram pegos desprevenidos: estavam concentrados em volta do Parque Kelly Ingram, a quase um quilômetro dali, e os manifestantes os haviam surpreendido. Mas George teve certeza de que aquela atmosfera de manifestação bem-humorada só iria durar enquanto Bull Connor permanecesse desestabilizado. Quando a manhã foi se transformando em tarde, ele voltou ao Gaston. Encontrou Verena com uma cara preocupada. – Isso que está acontecendo é ótimo, mas está fora de controle – disse ela. – Nosso pessoal tem treinamento em protestos não violentos, mas milhares de outras pessoas estão simplesmente se juntando às manifestações, e não têm a menor disciplina. – A pressão nas Grandes Mulas está aumentando – comentou George. – Mas não queremos que o governo baixe uma lei marcial. O Alabama era governado por George Wallace, um segregacionista ferrenho. – Lei marcial significa controle federal – assinalou George. – E nesse caso o presidente teria de ordenar uma integração ao menos parcial. – Se as Grandes Mulas forem forçadas a tomar essa decisão por alguém de fora, vão dar um jeito de não acatá-la. É melhor a decisão ser deles. George estava vendo que Verena tinha um raciocínio político sutil; sem dúvida devia ter aprendido muito com King. Mas ficou em dúvida se ela estava certa em relação àquela questão. Comeu um sanduíche de presunto e tornou a sair. A atmosfera ao redor do Parque Kelly Ingram estava mais tensa agora. Lá dentro, centenas de policiais balançavam cassetetes e seguravam cães nervosos. Bombeiros usavam mangueiras em qualquer um que estivesse indo para o centro. Atacados pelos jatos, os negros começaram a jogar pedras e garrafas de CocaCola na polícia. Verena e outros integrantes da equipe de King percorriam a multidão implorando para as pessoas manterem a calma e evitarem a violência, mas não adiantou quase nada. Um estranho veículo branco conhecido como Tanque subia e descia a Rua 16, e Bull Connor gritava em um megafone: – Dispersem! Saiam das ruas! George ficara sabendo que aquilo não era um tanque, e sim um blindado do Exército comprado por Connor. Viu Fred Shuttlesworth, rival de King na liderança da campanha, um homem nervoso de 41 anos que exibia um aspecto duro, roupas elegantes e um bigode bem aparado. Shuttlesworth havia sobrevivido a dois atentados a bomba e sua mulher fora esfaqueada por um membro da Ku Klux Klan, mas ele parecia não ter medo algum e se recusava a sair da cidade. “Não fui salvo para fugir”, gostava de dizer. Embora fosse um lutador nato, estava agora tentando reunir alguns dos jovens. – Não provoquem a polícia – orientava ele. – Não ajam como se estivessem pretendendo atacá-la.
Um bom conselho, pensou George. Crianças se reuniram em volta de Shuttlesworth e, qual o Flautista de Hamelin, ele as conduziu de volta até sua igreja, acenando no ar com um lencinho branco na tentativa de mostrar à polícia que sua intenção era pacífica. Quase funcionou. Shuttlesworth fez as crianças passarem em frente aos caminhões de bombeiros diante da igreja até chegarem à entrada do subsolo, que ficava no mesmo nível da rua, e por ali as fez entrar e descer a escada. Quando todas já tinham entrado, virou-se para segui-las. Foi nessa hora que George ouviu uma voz gritar: – Vamos jogar uma água no reverendo. Com a testa franzida, Shuttlesworth se virou. O jato de um canhão d’água o atingiu em cheio no peito. Ele cambaleou e caiu para trás, despencando escada abaixo com alarde e um urro de dor. – Ai, meu Deus! – gritou alguém. – Acertaram Shuttlesworth! George entrou correndo. O reverendo estava ao pé da escada, arquejando. – Está tudo bem?! – gritou George, mas o outro não conseguiu responder. – Alguém chame uma ambulância, depressa! Ficou pasmo que as autoridades tivessem sido tão burras. Shuttlesworth era um homem muito popular. Será que eles queriam provocar um motim? Havia ambulâncias por perto e foi preciso apenas um ou dois minutos para dois homens entrarem com uma maca e levarem o reverendo embora. George subiu atrás deles até a calçada. Observadores negros e policiais brancos se aglomeravam perigosamente. Jornalistas também haviam se juntado, e fotógrafos de imprensa tiravam fotos enquanto a maca era colocada na ambulância. Todos observaram o veículo ir embora. Instantes depois, Bull Connor apareceu. – Esperei uma semana para ver Shuttlesworth ser atingido por uma mangueira – disse ele, animado. – Que pena ter perdido essa cena. George ficou uma fera. Torceu para um dos observadores dar um soco na cara gorda de Connor. – Ele foi embora de ambulância – falou um jornalista branco. – Quem dera tivesse sido de rabecão – comentou Connor. George teve de virar as costas para conter a própria fúria. Foi salvo por Dennis Wilson, que surgiu do nada e o segurou pelo braço. – Boas notícias! – exclamou ele. – As Grandes Mulas cederam! George se virou. – Como assim, cederam? – Formaram um comitê para negociar com os ativistas! Era mesmo uma boa notícia. Algo os tinha feito mudar de ideia: as manifestações, os
telefonemas do presidente, ou então a ameaça de lei marcial. Fosse qual fosse o motivo, eles estavam agora desesperados o suficiente para se sentar com os negros e conversar sobre uma trégua. Talvez esta pudesse ser negociada antes de os motins se tornarem seriamente violentos. – Mas eles precisam de um lugar para se reunir – acrescentou Dennis. – Verena deve saber de algum. Vamos procurá-la. George se virou para ir embora, então parou, girou nos calcanhares e olhou para Bull Connor. Viu que ele estava se tornando irrelevante. Connor estava nas ruas, vaiando os ativistas de direitos civis, mas na Câmara de Comércio os figurões mais poderosos da cidade haviam modificado o curso – e sem consultá-lo. Talvez o dia em que os brancos truculentos não mais governariam o Sul estivesse chegando. Ou talvez não.
O acordo foi anunciado na coletiva de imprensa de sexta-feira. Fred Shuttlesworth compareceu, com algumas costelas quebradas por causa do canhão d’água, e anunciou: – Birmingham hoje chegou a um acordo com sua consciência! Pouco depois, desmaiou e teve de ser levado embora carregado. Martin Luther King declarou vitória e pegou um avião de volta para Atlanta. A elite branca de Birmingham finalmente havia concordado com certo nível de dessegregação. Verena reclamou que não era grande coisa, e de certa forma tinha razão: as concessões eram mínimas. Na opinião de George, contudo, houvera uma grande mudança de princípios: os brancos tinham aceitado que precisavam negociar com os negros sobre segregação. Não podiam mais simplesmente impor a lei. As negociações iriam prosseguir, e só poderiam avançar em uma direção. Quer aquilo fosse um pequeno avanço ou um importante divisor de águas, todas as pessoas de cor de Birmingham comemoraram no domingo à noite, e Verena convidou George para ir ao seu quarto de hotel. Ele logo descobriu que ela não era uma daquelas moças que gostava que o homem assumisse o comando na cama. Sabia o que queria, e não tinha vergonha de pedir. Para George, não havia problema algum. Quase qualquer coisa o teria deixado contente. Ele estava encantado com aquele corpo lindo de pele clara e aqueles olhos verdes sedutores. Ela falou bastante durante a transa, dizendo-lhe o que estava sentindo, perguntando se tal coisa lhe agradava ou o deixava constrangido, e as palavras intensificaram sua intimidade. Ele percebeu, com mais força do que nunca, como o sexo podia ser um jeito de conhecer o temperamento da outra pessoa tanto quanto seu corpo. Perto do fim, ela quis ficar por cima. Mais uma novidade: nenhuma mulher tinha feito aquilo com ele antes. Ela se ajoelhou com uma perna de cada lado de seu corpo, ele a segurou
pelos quadris, e os dois começaram a se movimentar no mesmo ritmo. Ela fechou os olhos, mas ele, não. Ficou olhando para seu rosto, fascinado, vidrado, e quando ela finalmente chegou ao clímax ele também gozou. Alguns minutos antes da meia-noite, enquanto Verena estava no banheiro, George se postou junto à janela, de roupão, e ficou olhando as luzes da Quinta Avenida. Tornou a pensar no acordo de direitos civis que King tinha feito com os brancos de Birmingham. Se aquilo era um triunfo para o movimento em defesa dos direitos civis, os segregacionistas aguerridos jamais aceitariam uma derrota, supunha ele. Mas como será que iriam reagir? Bull Connor sem dúvida devia ter um plano para sabotar o acordo. Provavelmente o governador racista George Wallace também tinha o seu. Naquele dia, a Ku Klux Klan tinha feito um comício em Bessemer, pequena cidade a 30 quilômetros de Birmingham. Segundo as informações de inteligência obtidas por Bobby Kennedy, o encontro reunira segregacionistas da Geórgia, do Tennessee, da Carolina do Sul e do Mississippi. Sem dúvida os oradores tinham passado a noite inteira instigando aquelas pessoas a um frenesi de indignação pelo fato de Birmingham ter capitulado diante dos negros. Àquela altura, mulheres e crianças já deviam ter ido para casa, mas os homens deviam ter começado a beber e a se gabar uns com os outros em relação ao que iriam fazer. O dia seguinte, 12 de maio, era Dia das Mães. George se lembrou da mesma data dois anos antes, quando os brancos tinham tentado matar a ele e a outros Viajantes da Liberdade jogando bombas caseiras em seu ônibus em Anniston, a 100 quilômetros dali. Verena saiu do banheiro. – Volte para a cama – falou, enfiando-se sob os lençóis. Vontade não faltava a George; esperava que os dois transassem no mínimo mais uma vez antes de o dia amanhecer. No entanto, bem na hora em que ia virar as costas para a janela, alguma coisa atraiu seu olhar. Os faróis de dois carros vieram chegando pela Quinta Avenida. O primeiro era uma viatura branca do Departamento de Polícia de Birmingham na qual se podia distinguir claramente o número 25. Logo atrás vinha um velho Chevrolet de frente arredondada do início dos anos 1950. Ambos diminuíram a velocidade ao chegarem à altura do Gaston. De repente, George reparou que os policiais e agentes da polícia estadual que antes patrulhavam as ruas em torno do motel tinham sumido. A calçada estava deserta. O que estava acontecendo ali? Um segundo depois, algo foi atirado na calçada da janela traseira aberta do Chevrolet, indo parar junto à parede do motel. O objeto aterrissou bem debaixo das janelas do quarto 300, a suíte no canto que fora ocupada por Martin Luther King até ele deixar a cidade mais cedo. Então os dois carros aceleraram. George virou as costas para a janela, atravessou o quarto em dois passos largos e se jogou em cima de Verena.
Ela estava começando a protestar quando seu grito foi engolido por um imenso estrondo. O prédio inteiro sacudiu, como se estivesse havendo um terremoto. O ar foi tomado pelo barulho de vidro estilhaçando e pelo rumor de alvenaria desabando. A janela do quarto se espatifou com um tilintar que parecia as sinetas da morte. Fez-se um sinistro instante de silêncio. Enquanto o barulho dos dois carros ia diminuindo, George ouviu gritos e lamentos vindos de dentro do prédio. – Tudo bem com você? – perguntou a Verena. – Que porra foi essa? – Alguém atirou uma bomba de um carro. – Ele franziu a testa. – O carro estava escoltado por uma viatura da polícia. Dá para acreditar? – Nesta porcaria de cidade? Dá, sim. Fácil. George rolou para sair de cima dela e olhou para o quarto em volta. O chão estava totalmente tomado por vidro quebrado. Um pedaço de tecido verde cobria o pé da cama, e após alguns instantes ele percebeu que era a cortina. Um retrato de Roosevelt arrancado da parede pela força da explosão estava caído no tapete, com a foto virada para cima e o sorriso do presidente coberto por vidro quebrado. – Temos que descer – disse Verena. – Talvez tenha gente ferida. – Espere um instante. Vou pegar seus sapatos. – George pousou o pé sobre um pedaço limpo do carpete. Para atravessar o quarto, teve de ir catando cacos de vidro e jogando para o lado. Seus sapatos e os de Verena estavam lado a lado no armário: ele gostou de ver isso. Calçou seus oxfords de couro preto, depois pegou os sapatos brancos de salto gatinha de Verena e os levou até ela. A energia caiu. Ambos se vestiram depressa, no escuro. Descobriram que o banheiro estava sem água. Desceram até o térreo. O lobby às escuras estava cheio de funcionários e hóspedes, todos em pânico. Várias pessoas sangravam, mas não parecia haver vítimas fatais. George abriu caminho até lá fora. À luz dos postes de rua, viu um rombo de um metro e meio na parede do prédio e um monte de entulho na calçada. Trailers estacionados no terreno ao lado tinham sido destruídos pela força da bomba, mas por milagre ninguém ficara ferido. Um policial chegou com um cachorro, seguido logo depois por uma ambulância e outros policiais. Ameaçadoramente, grupos de negros começaram a se reunir em frente ao motel e no Parque Kelly Ingram, no quarteirão seguinte. Aqueles não eram os cristãos não violentos que tinham saído em marcha alegremente da Igreja Batista da Rua 16 cantando hinos, observou George, aflito. Eram homens que tinham passado a noite de sábado bebendo em bares, casas de sinuca e arrasta-pés, e que não abraçavam a filosofia gandhiana de resistência passiva defendida pelo reverendo King. Alguém disse que houvera outra bomba, a alguns quarteirões dali, na residência paroquial ocupada pelo irmão de Martin Luther King, Alfred, conhecido como A. D. King. Uma
testemunha ocular tinha visto um policial uniformizado depositar um embrulho em frente à porta da casa poucos segundos antes da explosão. Obviamente, a polícia de Birmingham havia tentado matar os dois irmãos King ao mesmo tempo. A raiva da multidão aumentou. As pessoas logo começaram a jogar garrafas e pedras. Cachorros e canhões d’água eram os alvos preferidos. George voltou para dentro do motel. À luz de lanternas, Verena ajudava a resgatar uma senhora negra idosa de um quarto em ruínas no térreo. – A coisa lá fora está ficando feia – disse-lhe George. – Estão tacando pedras na polícia. – E deveriam tacar, mesmo! Foi a polícia quem jogou as bombas. – Pense um pouco – pediu ele, com urgência. – Por que os brancos querem um motim hoje à noite? Para sabotar o acordo. Ela limpou um pouco de poeira de gesso da testa. George observou sua expressão e viu a raiva ser substituída pelo raciocínio. – Caramba, você tem razão! – exclamou ela. – Não podemos deixar que façam isso. – Mas como vamos impedir? – Temos de mandar todos os líderes do movimento lá para a rua acalmar as pessoas. Ela concordou. – Caramba, é. Vou começar a reunir todo mundo. George tornou a sair para a rua. O motim tinha se intensificado depressa. Um táxi virado e incendiado ardia no meio da rua. A um quarteirão dali, uma mercearia também estava pegando fogo. Viaturas de polícia que chegavam do centro eram paradas na Rua 17 por uma chuva de projéteis. George pegou um megafone e começou a falar com a multidão: – Calma, pessoal! Não ponham nosso acordo em risco! Os segregacionistas estão tentando começar um motim... não vamos dar o que eles querem! Vão para casa dormir! Um negro em pé ali perto disse: – Por que é que nós temos de ir para casa toda vez que eles começam a violência? George subiu no capô de um carro estacionado e ficou em pé no teto. – Isso não está nos ajudando! Nosso movimento é não violento! Vão para casa, todo mundo! – Nós somos não violentos, mas eles, não! – gritou alguém. Então uma garrafa de uísque vazia voou pelo ar e acertou George na testa. Ele desceu do teto do carro. Levou a mão à cabeça: estava doendo, mas não havia sangue. Outras pessoas assumiram seu lugar. Verena apareceu com vários líderes e pastores do movimento, e eles se misturaram à multidão para tentar acalmar as pessoas. A. D. King subiu em um carro. – Nossa casa acabou de ser bombardeada – gritou. – Nós dizemos: perdoai-os, ó Pai, pois eles não sabem o que fazem. Mas vocês não estão ajudando... estão nos prejudicando! Por
favor, vão embora deste parque! Aos poucos, a estratégia começou a dar certo. George reparou que Bull Connor tinha sumido; o responsável agora era um profissional de segurança pública, o comandante da polícia Jamie Moore, e não um detentor de cargo político. Isso ajudou. A atitude da polícia parecia ter mudado. Os bombeiros e os homens que seguravam os cachorros não pareciam mais ávidos por briga. George ouviu um policial dizer para um grupo de negros: – Nós somos seus amigos! – Era mentira, mas um novo tipo de mentira. Percebeu que entre os segregacionistas também havia pombas e falcões. Martin Luther King tinha se aliado às pombas e assim conseguira contornar os falcões. Agora os falcões estavam tentando reacender as fogueiras do ódio. Era preciso impedi-los. Sem o estímulo da truculência policial, a multidão perdeu o ímpeto de se amotinar. George começou a ouvir comentários diferentes. Quando a mercearia incendiada ruiu, as pessoas pareceram contritas. “Que pena”, comentou um homem, e outro disse: “Nós fomos longe demais.” Por fim, os pastores fizeram a multidão começar a cantar, e George relaxou. Sentiu que estava tudo acabado. Encontrou o comandante Moore na esquina da Quinta Avenida com a Rua 17. – Precisamos de equipes de reparos lá no motel, comandante – falou, educado. – O Gaston está sem energia e sem água, e não vai demorar a ficar insalubre. – Vou ver o que posso fazer – disse Moore, e levou o walkie-talkie à orelha. Antes que ele conseguisse falar qualquer coisa, porém, a polícia estadual chegou. De capacete azul, os agentes portavam carabinas e espingardas de cano duplo. Chegaram em bando, a maioria de carro, alguns a cavalo. Em poucos segundos, já eram duzentos ou mais. George encarou a cena, horrorizado. Aquilo era uma catástrofe... eles iriam recomeçar o motim. Percebeu, contudo, que era essa a intenção do governador George Wallace. Assim como Bull Connor e os responsáveis pelas bombas, Wallace agora achava que a única esperança dos segregacionistas era uma ruptura completa da lei e da ordem. Um carro se aproximou e o diretor de Segurança Pública de Wallace, coronel Al Lingo, saltou carregando uma espingarda. Dois homens que o acompanhavam, guarda-costas pelo visto, portavam submetralhadoras Thompson. O comandante Moore guardou o walkie-talkie. Falou em tom suave, mas tomou cuidado para não se dirigir a Lingo pela patente militar: – Eu gostaria que o senhor fosse embora, Sr. Lingo. Lingo dispensou a cortesia. – Vá sentar essa bunda mole de covarde lá na sua sala. Quem manda aqui agora sou eu, e minha ordem é fazer esses pretos malditos irem para a cama. George imaginou que eles fossem mandá-lo sair dali, mas estavam entretidos demais na discussão para prestar atenção nele. – Essas armas não são necessárias – falou Moore. – Pode, por favor, apontá-las para o
alto? Alguém vai acabar morrendo. – Vai mesmo, caramba! – retrucou Lingo. George se afastou rapidamente em direção ao motel. Logo antes de entrar, virou-se bem a tempo de ver a polícia estadual atacar a multidão. E o motim recomeçou. Ele encontrou Verena no pátio do motel. – Preciso voltar para Washington – falou. Não queria ir embora. Queria passar mais tempo com ela, conversando e aprofundando sua recém-descoberta intimidade. Queria fazê-la se apaixonar por ele. Mas isso teria que esperar. – O que vai fazer em Washington? – perguntou ela. – Garantir que os irmãos Kennedy entendam o que está acontecendo. Eles precisam saber que o governador Wallace está provocando violência para prejudicar o acordo. – São três horas da manhã. – Eu gostaria de chegar ao aeroporto o mais cedo possível e pegar o primeiro avião. Talvez tenha de voar por Atlanta. – Como vai chegar ao aeroporto? – Vou procurar um táxi. – Nenhum táxi vai pegar um passageiro negro na noite de hoje, principalmente se ele estiver com um galo na testa. Com delicadeza, George levou a mão ao próprio rosto e encontrou um galo bem no lugar em que ela dissera. – Como isso aconteceu? – perguntou. – Acho que vi uma garrafa acertar você. – Ah, é. Bom, talvez seja uma bobagem, mas preciso chegar ao aeroporto. – E a sua bagagem? – Não vou conseguir fazer a mala no escuro. Além disso, não tenho muita coisa. Vou embora e pronto. – Tome cuidado – disse ela. Ele a beijou. Ela o abraçou pelo pescoço e apertou o corpo esguio contra o seu. – Foi ótimo – sussurrou, antes de soltá-lo. Ele saiu do motel. As avenidas que conduziam diretamente ao centro da cidade estavam interditadas a leste; ele teria de dar uma volta. Seguiu para oeste, depois para o norte, e finalmente dobrou para leste quando sentiu que havia ultrapassado a área do motim. Não viu táxi nenhum. Talvez tivesse de esperar o primeiro ônibus de domingo de manhã. Uma luz tênue já surgia no céu a leste quando um carro parou cantando pneus ao seu lado. Ele se preparou para correr, temendo milicianos brancos, mas em seguida mudou de ideia quando três policiais estaduais saltaram do carro, com as espingardas em punho. Eles não vão precisar de muitas desculpas para me matar, pensou, assustado. O líder era um baixote com trejeitos arrogantes. George reparou nas divisas de sargento em
sua manga. – Está indo para onde, garoto? – perguntou ele. – Estou tentando chegar ao aeroporto, sargento. Talvez o senhor consiga me dizer onde posso encontrar um táxi. O líder se virou para os outros com um sorriso de ironia. – Ele está tentando chegar ao aeroporto – repetiu, como se aquilo fosse cômico. – E acha que podemos ajudá-lo a encontrar um táxi! Seus subordinados deram risadas incentivadoras. – O que vai fazer no aeroporto? – perguntou-lhe o sargento. – Limpar os banheiros? – Pegar um avião para Washington. Eu trabalho no Departamento de Justiça. Sou advogado. – É mesmo? Bom, eu trabalho para George Wallace, governador do Alabama, e nós aqui não ligamos muito para Washington. Então entre na droga do carro antes que eu quebre essa sua cabeça pixaim. – Estão me prendendo por quê? – Não banque o atrevido comigo, garoto. – Se me prender sem motivo, o senhor é um criminoso, não um policial. Com um movimento súbito e rápido, o sargento desferiu um golpe com a coronha da espingarda. Por instinto, George se esquivou e ergueu a mão para proteger o rosto. A coronha de madeira da arma o acertou no pulso esquerdo, causando uma forte dor. Os outros dois policiais o seguraram pelos braços. Ele não resistiu, mas eles o arrastaram como se ele estivesse se debatendo. O sargento abriu a porta traseira do carro, e eles o jogaram no banco de trás. Fecharam a porta antes de ele entrar direito e esta prendeu sua perna, fazendo-o gritar. Eles tornaram a abrir a porta, enfiaram sua perna machucada lá dentro e a fecharam outra vez. Ele ficou afundado no banco de trás. Sua perna doía, mas o pulso era pior. Eles podem fazer o que quiserem conosco, pensou, porque somos negros. Nessa hora, desejou ter atirado pedras e garrafas na polícia, em vez de ficar pedindo para as pessoas se acalmarem e voltarem para casa. Os agentes foram com o carro até o Gaston. Lá chegando, abriram a porta traseira e empurraram George para fora. Segurando o pulso esquerdo com a mão direita, ele voltou mancando para o pátio do hotel.
Mais tarde, no domingo de manhã, George finalmente encontrou um táxi circulando com um motorista negro e foi para o aeroporto, onde pegou um voo para Washington. Seu pulso esquerdo doía tanto que ele não conseguia usar o braço, e manteve a mão no bolso para sustentá-lo. O pulso estava inchado, e para aliviar a dor ele tirou o relógio e soltou a abotoadura.
De um telefone público no aeroporto, ligou para o Departamento de Justiça e soube que haveria uma reunião de emergência na Casa Branca às seis horas. O presidente estava a caminho, vindo de Camp David, e Burke Marshall viera de helicóptero da Virgínia Ocidental. Bobby estava a caminho do departamento e queria uma atualização urgente, e não, George não tinha tempo de passar em casa e trocar de roupa. Prometendo a si mesmo guardar uma camisa sobressalente na gaveta de sua mesa dali em diante, pegou um táxi até o Departamento de Justiça e foi direto para a sala do chefe. Embora fizesse uma careta sempre que tentava mover o braço esquerdo, insistiu que seus ferimentos eram leves e não precisavam de tratamento médico. Resumiu os acontecimentos da noite para o secretário de Justiça e um grupo de conselheiros que incluía Marshall. Por algum motivo, Brumus, o imenso Terranova preto de Bobby, também estava na sala. – A trégua acordada esta semana a duras penas está agora ameaçada – disse-lhe George, em conclusão. – As bombas e a brutalidade da polícia estadual enfraqueceram o compromisso dos negros com a não violência. Além disso, os motins ameaçam prejudicar a posição dos brancos que negociaram com Martin Luther King. George Wallace e Bull Connor, os inimigos da integração, estão torcendo para um dos lados, ou ambos, desistir do acordo. Precisamos dar um jeito de impedir isso. – Está tudo bem claro – disse Bobby. Entraram todos no carro do secretário, um Ford Galaxie 500. Como era verão, a capota estava arriada. Percorreram a curta distância até a Casa Branca. Brumus adorou o passeio. Milhares de manifestantes em frente à Casa Branca, visivelmente brancos e negros misturados, seguravam cartazes dizendo SALVEM OS ESTUDANTES DE BIRMINGHAM. O presidente estava no Salão Oval sentado em sua cadeira favorita, uma cadeira de balanço, à espera do grupo do Departamento de Justiça. Ao seu lado havia um trio de militares poderosos: Bob McNamara, o Menino-Prodígio Secretário de Defesa, o Secretário do Exército e o chefe do Estado-Maior do Exército. O grupo estava reunido ali naquele dia, entendeu George, porque os negros de Birmingham tinham causado incêndios e atirado garrafas na noite anterior. Nenhuma reunião de emergência daquele tipo jamais fora convocada em todos os anos de protestos não violentos em defesa dos direitos civis, nem mesmo quando a Ku Klux Klan tinha bombardeado casas de negros. Motins davam resultado. Os militares estavam ali para debater o envio de tropas a Birmingham. Como sempre, Bobby se concentrou na realidade política: – As pessoas vão exigir uma ação do presidente. Mas há um problema: não podemos admitir que estamos despachando tropas federais para conter a polícia estadual... Seria como se a Casa Branca declarasse guerra ao estado do Alabama. Então precisamos dizer que foi para controlar os amotinados... e seria como se a Casa Branca declarasse guerra aos negros. O presidente entendeu na hora: – Quando tiverem a proteção das tropas federais, os brancos podem simplesmente rasgar o
acordo que acabaram de fazer. Em outras palavras, pensou George, a ameaça dos motins de negros estava mantendo vivo o acordo. Embora a conclusão não lhe agradasse, era difícil de evitar. Burke Marshall tomou a palavra; considerava o acordo uma conquista sua. – O acordo não pode ruir – falou, em tom cansado. – Senão os negros vão ficar, ahn... – Incontroláveis – completou o presidente. – E não só em Birmingham – acrescentou Marshall. A sala silenciou enquanto todos refletiam sobre a perspectiva de motins semelhantes em outras cidades do país. – O que King vai fazer hoje? – perguntou o presidente Kennedy. – Pegar um avião de volta para Birmingham – respondeu George. Ficara sabendo disso pouco antes de sair do Gaston. – A esta hora, não tenho dúvidas de que ele já está fazendo a ronda de todas as grandes igrejas, pedindo às pessoas que voltem para casa de forma pacífica e não saiam mais hoje. – E elas vão obedecer? – Vão, contanto que não haja mais bombas e que a polícia estadual seja controlada. – E como podemos garantir isso? – Será que não poderiam mandar as tropas para perto de Birmingham, mas não propriamente para dentro da cidade? Assim o apoio ao acordo ficaria claro. Connor e Wallace saberiam que, caso se comportem mal, vão perder o poder. Mas isso não daria aos brancos uma oportunidade de renegar o acordo. O assunto foi debatido por algum tempo, e no final foi assim que decidiram agir. George e um pequeno subgrupo foram para a Sala do Gabinete redigir uma declaração para a imprensa, que a secretária do presidente datilografou. As coletivas em geral aconteciam na sala de Pierre Salinger, mas nesse dia os jornalistas e câmeras eram numerosos demais e a noite de verão estava amena, de modo que a declaração foi feita no Roseiral. George viu o presidente sair da Casa Branca, postar-se diante da imprensa internacional e dizer: – O acordo de Birmingham foi e continua sendo um acordo justo. O governo federal não vai permitir que seja sabotado por uns poucos extremistas de ambos os lados. Dois passos para a frente, um para trás e mais dois para a frente, pensou George, mas estamos avançando.
CAPÍTULO VINTE E TRÊS
Dave Williams tinha planos para o sábado à noite. Três meninas da sua sala no colégio iriam ao Jump Club, no Soho, e Dave e dois outros meninos tinham dito casualmente que talvez as encontrassem lá. Uma das meninas era Linda Robertson. Dave achava que ela gostava dele. A maioria das pessoas o julgava burro, uma vez que era o último da turma nas provas, mas Linda tinha conversas inteligentes com ele sobre política, assunto que ele conhecia bem por causa de sua família. Usaria uma camisa nova com o colarinho extremamente pontudo. Sabia dançar bem; até seus amigos homens admitiam que ele dançava o twist com estilo. Na sua opinião, suas chances de engatar um romance com Linda eram boas. Dave estava com 15 anos, mas, para sua grande irritação, a maioria das meninas da sua idade preferia garotos mais velhos. Ainda lhe causava certa dor lembrar como, mais de um ano antes, havia seguido a encantadora Beep Dewar na esperança de lhe roubar um beijo e a encontrara presa em um abraço apaixonado com Jasper Murray, de 18 anos. Todo sábado de manhã, os filhos da família Williams iam ao escritório do pai receber a mesada semanal. Evie, de 17 anos, recebia uma libra; Dave recebia dez shillings. Qual pedintes vitorianos, eles primeiro tinham de ouvir um sermão. Nesse dia, Evie recebeu a mesada e foi dispensada, mas Lloyd pediu a Dave que esperasse. Quando a porta se fechou, ele disse: – Seus resultados nas provas foram muito ruins. Isso Dave já sabia. Em dez anos de escola, nunca havia passado em nenhuma prova escrita. – Desculpe – falou. Não queria criar caso; só queria pegar seu dinheiro e sair dali. Lloyd estava de camisa quadriculada e cardigã, sua roupa de sábado de manhã. – Mas você não é burro – falou. – Os professores acham que eu sou. – Eu não acho isso. Você é inteligente, mas é preguiçoso. – Não sou, não. – Então qual é o problema? Dave não tinha resposta. Era um leitor vagaroso, mas o pior de tudo era que sempre esquecia o que acabara de ler assim que virava a página. Tampouco escrevia muito bem: quando queria escrever “prato”, a caneta escrevia “parto” e ele não notava a diferença. Sua ortografia era péssima. – Tirei a nota máxima em francês e alemão oral – falou. – Isso mostra que, quando tenta, você consegue. Não era nada disso, mas Dave não soube explicar.
– Pensei muito no que fazer, e sua mãe e eu tivemos conversas intermináveis sobre esse assunto. Dave pensou que aquilo não estava soando nada bem. Que diabos iria acontecer agora? – Você está velho demais para apanhar, e, de toda forma, nós nunca acreditamos muito em castigo físico. Era verdade. A maioria dos adolescentes da sua idade apanhava quando se comportava mal, mas fazia anos que a mãe de Dave não batia nele; e o pai nunca o fizera. O que o incomodou naquela conversa, porém, foi a palavra “castigo”. Estava claro que ele iria receber algum. – A única coisa em que consigo pensar para fazer você se concentrar nos estudos é suspender sua mesada. Dave não conseguiu acreditar no que estava ouvindo. – Como assim, suspender? – Não vou lhe dar mais nenhum dinheiro até você melhorar no colégio. Por essa Dave não esperava. – Mas como vou fazer para me locomover por Londres? E comprar cigarros e ir ao Jump Club?, pensou, em pânico. – Você já vai para o colégio a pé, mesmo. Se quiser ir a algum outro lugar, vai ter que se sair melhor nos estudos. – Não posso viver assim! – Você come de graça e tem um armário cheio de roupas, então não vai lhe faltar grande coisa. Basta lembrar que, se não estudar, nunca vai ter dinheiro para se movimentar. Dave ficou indignado. Seus planos para a noite estavam arruinados! Sentiu-se impotente e infantil. – Então é isso? – É. – Quer dizer que estou perdendo meu tempo aqui. – Você está aqui ouvindo seu pai tentar orientá-lo da melhor forma que pode. – É a mesma coisa, droga – resmungou Dave, e saiu batendo o pé. Tirou a jaqueta de couro do gancho no hall e saiu de casa. A manhã de primavera estava amena. O que iria fazer? Seus planos para o dia eram encontrar amigos em Piccadilly Circus, passear pela Denmark Street para olhar as guitarras, tomar um chope em algum pub, depois voltar para casa e vestir a camisa de colarinho pontudo. Tinha uns trocados no bolso – o suficiente para um chope grande. Como conseguir o dinheiro para a entrada do Jump Club? Talvez pudesse trabalhar. Quem lhe daria um emprego com tão pouca antecedência? Alguns amigos seus trabalhavam aos sábados ou domingos em lojas e restaurantes que precisavam de mão de obra extra no fim de semana. Cogitou entrar em um café e se oferecer para lavar louça na cozinha. Valia a pena tentar. Virou em direção ao West End.
Então lhe ocorreu outra ideia. Tinha parentes que talvez lhe dessem um emprego. Millie, irmã de seu pai, trabalhava com moda e tinha três butiques em subúrbios abastados de Londres: Harrow, Golders Green e Hampstead. Talvez a tia pudesse lhe arrumar um emprego aos sábados, embora ele não soubesse quão bom seria em vender vestidos para senhoras. Millie era casada com um atacadista de couro chamado Abie Avery, cujo armazém no leste de Londres talvez fosse uma aposta mais segura. Tanto ela quanto Abie, porém, decerto pediriam permissão a Lloyd, que lhes diria que o filho deveria estar estudando, não trabalhando. Mas Millie e Abie tinham um filho, Lenny, de 23 anos, que vivia de pequenos negócios e falcatruas. Aos sábados, Lenny tinha uma barraca no mercado de Aldgate, no East End, onde vendia Chanel No 5 e outros perfumes caros a preços ridiculamente baixos. Sussurrava para os clientes que eram roubados, mas na verdade eram apenas imitações, fragrâncias baratas em frascos de aspecto caro. Lenny talvez lhe conseguisse um dia de trabalho. Ele tinha o dinheiro exato para uma viagem de metrô. Entrou na estação mais próxima e comprou a passagem. Se o primo recusasse, não sabia como iria voltar. Calculou que poderia caminhar alguns quilômetros se fosse preciso. O trem o levou por baixo de Londres da rica parte oeste até o leste operário. O mercado já estava lotado de clientes ávidos para comprar a preços mais baixos do que os das lojas normais. Algumas das mercadorias eram mesmo roubadas, supôs Dave: chaleiras elétricas, barbeadores, ferros de passar e rádios surrupiados pela porta dos fundos das fábricas. Outras eram excedentes de produção vendidas barato pelos fabricantes: discos que ninguém queria, livros que não tinham conseguido se tornar sucessos de venda, porta-retratos feios, cinzeiros em forma de conchas do mar. Mas a maioria tinha algum defeito. Havia caixas de chocolate rançoso, cachecóis listrados com falhas na trama, botas de couro bicolores com tingimento irregular, pratos de porcelana decorados com meia flor. Lenny era parecido com o avô de Dave, o finado Bernie Leckwith, de quem herdara os cabelos pretos fartos e os olhos castanhos. Seus cabelos estavam besuntados de brilhantina e penteados em um topete à la Elvis. Ele recebeu o primo calorosamente. – Olá, jovem Dave! Que tal um perfuminho para a namorada? Experimente o Fleur Sauvage. – Sua pronúncia do nome em francês era gozada. – Calcinha no chão garantida, por apenas dois shillings e seis pence. – Preciso de um emprego, Lenny – disse Dave. – Posso trabalhar para você? – Emprego? Sua mãe não é milionária? – perguntou Lenny, evasivo. – Meu pai cortou minha mesada. – Por quê? – Porque minhas notas são ruins. Ou seja, estou duro. Só quero ganhar dinheiro suficiente para sair hoje. Pela terceira vez, Lenny respondeu com uma pergunta: – E eu lá tenho cara de bolsa de empregos?
– Me dê uma chance. Aposto que eu saberia vender perfume. Lenny se virou para uma cliente. – Muito bom gosto, senhora. Os perfumes da Yardley são os mais classudos do mercado... mas esse frasco aí na sua mão custa só três shillings, e tive de pagar dois shillings e seis pence ao cara que roubou, digo, que me forneceu o produto. A mulher riu e comprou o perfume. – Não posso lhe pagar um salário – disse Lenny para Dave. – Mas vamos fazer o seguinte: vou lhe dar dez por cento de tudo o que conseguir vender. – Fechado – retrucou Dave, e foi se juntar ao primo atrás das mercadorias. – Guarde o dinheiro no bolso e mais tarde a gente acerta. Ele lhe entregou uma libra em moedas para servir de troco. Dave pegou um frasco de Yardley, hesitou, sorriu para uma mulher que passava e disse: – O perfume mais classudo do mercado! Ela sorriu de volta e continuou andando. Dave continuou tentando, imitando o discurso de Lenny, e depois de alguns minutos conseguiu vender um vidro de Joy, da casa Patou, por dois shillings e seis pence. Não demorou a aprender todas as frases do primo. “Nem toda mulher tem personalidade suficiente para usar esse daí, mas a senhora... Só compre isso se houver um homem a quem realmente queira agradar... Está fora de linha, o governo proibiu o cheiro por ser excessivamente sensual...” Os clientes se mostravam alegres e sempre dispostos a rir. Vestiam-se para ir ao mercado: aquilo era um acontecimento social. Dave aprendeu inúmeras gírias para dinheiro: a moeda de seis pence era um tílburi, cinco shillings eram um dólar, e uma nota de dez shillings era meia calcinha. O tempo passou depressa. A garçonete de um café próximo lhes levou dois sanduíches de pão branco grosso recheado com bacon frito e ketchup, e Lenny lhe pagou e entregou um dos sanduíches a Dave, que se espantou ao saber que era hora do almoço. Os bolsos de seu jeans justo ficaram pesados de tantas moedas, e ele se lembrou com grande prazer que dez por cento do dinheiro era seu. No meio da tarde, notou que praticamente não havia mais homens na rua, e Lenny lhe explicou que todos tinham ido a um jogo de futebol. Por volta do final da tarde, o movimento praticamente acabou. Dave pensava que o dinheiro em seu bolso devia chegar a umas cinco libras, o que significava que ele ganharia dez shillings, mesmo valor de sua mesada normal, e poderia ir ao Jump Club. Às cinco, Lenny começou a desmontar a barraca, Dave o ajudou a guardar a mercadoria que não tinha sido vendida em caixas de papelão e eles carregaram tudo em seu furgão amarelo da Bedford. Quando contaram o dinheiro de Dave, ele havia feito pouco mais de nove libras. Lenny lhe deu uma libra, um pouco mais do que os dez por cento combinados, “porque você me ajudou a embalar”. Dave ficou radiante: tinha ganhado o dobro da quantia que o pai deveria ter lhe
dado naquela manhã. Faria aquilo todos os sábados, de bom grado, pensou, sobretudo se dessa forma conseguisse evitar os sermões de Lloyd. Os primos foram até o pub mais próximo e pediram dois chopes grandes. – Você toca um pouco de guitarra, não toca? – perguntou Lenny enquanto sentavam diante de uma mesa com um cinzeiro abarrotado em cima. – Toco. – Como é o seu instrumento? – É uma Eko. Uma cópia barata de uma Gibson. – É elétrica? – É semiacústica. Lenny fez cara de impaciente; talvez não soubesse grande coisa sobre guitarras. – Dá para plugar ou não? – Dá... por quê? – Porque estou precisando de uma guitarra base para o meu grupo. Que incrível! Dave nunca tinha pensado em entrar para uma banda, mas a ideia lhe agradou na hora. – Não sabia que você tinha um grupo. – Os Guardsmen. Eu toco piano e canto a maioria das músicas. – Que tipo de música? – Rock ’n’ roll... o único tipo que existe. – Ou seja... – Elvis, Chuck Berry, Johnny Cash... Todos os feras. Dave conseguia tocar músicas de três acordes sem dificuldade. – E os Beatles? – Os acordes deles eram mais difíceis. – Quem? – Um grupo novo. Eles são demais. – Nunca ouvi falar. – Bom, seja como for, eu consigo fazer a guitarra base de rocks antigos. A frase pareceu deixar Lenny levemente ofendido, mas ele disse: – Gostaria de fazer um teste para os Guardsmen, então? – Adoraria! Lenny olhou para o relógio. – Quanto tempo você leva para ir em casa pegar a guitarra? – Meia hora, e mais meia para voltar. – Me encontre no Clube dos Trabalhadores de Aldgate às sete. Vamos estar montando o equipamento. Podemos fazer seu teste antes de tocar. Você tem amplificador? – Tenho um pequeno. – Vai ter que servir. Dave pegou o metrô. Seu sucesso como vendedor e o chope o tinham deixado animado.
Saboreando a vitória contra o pai, ele fumou um cigarro no vagão. Imaginou-se dizendo casualmente a Linda Robertson: “Eu toco guitarra em um grupo de beat.” Ela com certeza ficaria impressionada. Ao chegar em casa, entrou pela porta dos fundos. Conseguiu subir até o quarto sem ver nem o pai nem a mãe, e levou só alguns segundos para pôr a guitarra no estojo e pegar seu amplificador. Estava de saída quando a irmã, Evie, entrou no seu quarto vestida para um sábado à noite. De saia curta e botas até os joelhos, tinha os cabelos arrumados em um penteado tipo colmeia e os olhos muito maquiados no estilo panda popularizado por Dusty Springfield. Parecia ter mais do que os seus 17 anos. – Aonde você vai? – quis saber Dave. – A uma festa. Parece que Hank Remington vai estar lá. Líder e cantor do The Kords, Remington simpatizava com algumas das causas de Evie, e já afirmara isso em entrevistas. – Você causou bastante confusão hoje – comentou ela. Não era uma acusação: a irmã sempre tomava seu partido nas brigas com os pais, e ele fazia o mesmo por ela. – Por que está dizendo isso? – Papai ficou muito chateado. – Chateado? – Dave não soube muito bem como interpretar isso. Seu pai podia se mostrar bravo, decepcionado, severo, autoritário ou tirano, e em todos esses casos ele sabia como reagir; mas chateado? – Por quê? – Vocês brigaram, imagino. – Ele não quis me dar a mesada porque não passei em nenhuma prova. – E o que você fez? – Nada. Fui embora. Devo ter batido a porta. – E onde passou o dia? – Fui trabalhar na barraca de Lenny Avery no mercado e ganhei uma libra. – Que ótimo! E agora, aonde vai com a guitarra? – Lenny tem um grupo de beat. Ele quer que eu seja a guitarra base. Era um exagero: Dave ainda não tinha sido oficialmente aceito. – Boa sorte! – Imagino que você vá dizer à mamãe e ao papai aonde eu fui. – Só se você quiser. – Pode dizer, não ligo. – Dave foi até a porta, então hesitou. – Ele está mesmo chateado? – Está. O adolescente deu de ombros e saiu. Conseguiu deixar a casa sem ser visto. Estava ansioso com o teste. Tocava e cantava bastante com Evie, mas nunca tinha tocado
com um grupo de verdade, que tivesse um baterista. Torceu para ser bom o bastante – embora não fosse difícil fazer a guitarra base. No metrô, pensou várias vezes no pai. Estava um pouco chocado com a constatação de que podia deixar Lloyd chateado. Pais eram pessoas supostamente invulneráveis, mas ele agora via que pensar assim era infantil. Por mais irritante que fosse, talvez precisasse mudar de atitude. Não podia continuar se mostrando apenas indignado e ressentido. Não era o único a estar sofrendo. Lloyd o magoara, mas ele também tinha magoado o pai e os dois eram responsáveis. Sentir-se responsável não era tão confortável quanto sentir-se indignado. Encontrou o Clube dos Trabalhadores de Aldgate e lá entrou com sua guitarra e seu amplificador. Era um lugar feio no qual compridas lâmpadas de neon lançavam uma luz dura sobre mesas de fórmica e cadeiras tubulares enfileiradas de um jeito que o fez pensar na cantina de uma fábrica; não parecia um lugar adequado para o rock ’n’ roll. No palco, os Guardsmen estavam afinando os instrumentos. Além de Lenny no piano, o grupo era formado por Lew na bateria, Buzz no baixo e Geoffrey na guitarra solo. A julgar pelo microfone na sua frente, Geoffrey também devia cantar um pouco. Todos os três eram mais velhos do que Dave, deviam ter 20 e poucos anos, e ele temeu que fossem músicos muito melhores do que ele. De repente, a guitarra base não lhe pareceu tão simples assim. Ele afinou sua guitarra com o piano e a plugou no amplificador. – Você conhece “Mess of Blues”? – perguntou Lenny. Dave conhecia, e ficou aliviado. Era uma música de rocksteady em clave de dó conduzida por um piano animado, fácil de acompanhar na guitarra. Ele a tocou sem esforço, e o fato de acompanhar um grupo o fez sentir uma animação especial que nunca tinha experimentado sozinho. Lenny cantava bem, pensou. Buzz e Lew produziam uma base sólida, bem regular. Geoff tirava alguns licks estilosos da guitarra solo. O grupo era competente, ainda que sem grande imaginação. No final da música, Lenny falou: – Os acordes complementam bem o som do grupo, mas será que você consegue tocar de maneira mais rítmica? Ser criticado deixou Dave surpreso. Ele achava que tivesse se saído bem. – Tudo bem. A música seguinte foi “Shake, Rattle and Roll”, de Jerry Lee Lewis, também conduzida pelo piano. Geoffrey cantou junto com Lenny. Dave tocou acordes sincopados no contratempo, e Lenny pareceu gostar mais. O líder então anunciou “Johnny B. Goode”, e sem que ninguém precisasse pedir Dave tocou com animação a introdução de Chuck Berry. Quando chegou ao quinto compasso, imaginou que o grupo fosse entrar, como acontecia no disco, mas os Guardsmen ficaram em silêncio. Dave parou, e Lenny disse: – Eu em geral toco a introdução no piano.
– Desculpe – disse Dave, e Lenny recomeçou. Dave desanimou; não estava se saindo bem. A música seguinte foi “Wake Up, Little Susie”. Para surpresa de Dave, Geoffrey não cantou a harmonia dos Everly Brothers. Depois da primeira estrofe, ele se aproximou do microfone de Geoffrey e começou a cantar com Lenny. Logo duas jovens garçonetes que tiravam cinzeiros das mesas pararam o que estavam fazendo para escutar. Ao final, bateram palmas. Dave sorriu, satisfeito. Era a primeira vez que alguém fora da sua família o aplaudia. – Qual é o nome do seu grupo? – perguntou uma das moças. Dave apontou para Lenny. – O grupo é dele e se chama Guardsmen. – Ah. – Ela pareceu levemente decepcionada. A última música escolhida por Lenny foi “Take Good Care of My Baby”, e outra vez Dave cantou a harmonia. As garçonetes dançaram nos corredores entre as fileiras de mesas. Depois do teste, Lenny se levantou do piano. – Bom, como guitarrista você não é lá grande coisa – falou para Dave. – Mas canta bem, e aquelas garotas gostaram muito. – Então, estou dentro ou não? – Consegue tocar hoje à noite? – Hoje?! Apesar de contente, Dave não imaginava começar tão cedo. Estava ansioso para encontrar Linda Robertson mais tarde. – Tem outra coisa melhor para fazer? Lenny parecia um pouco ofendido por Dave não ter aceitado de imediato. – Bom, eu ia encontrar uma garota, mas ela vai ter que esperar. A que horas a gente termina? – Isto aqui é um clube de trabalhadores. Eles não ficam acordados até tarde. A gente sai do palco às dez e meia. Dave calculou que poderia estar no Jump Club às onze. – Tudo bem – falou. – Ótimo. Bem-vindo ao grupo.
Jasper Murray continuava sem dinheiro para ir para os Estados Unidos. No college londrino em que estudava, o St. Julian’s, havia um grupo chamado Clube Norte-Americano que organizava voos charter com passagens baratas. Certo dia, no final da tarde, ele entrou em sua salinha no grêmio estudantil e perguntou sobre preços. Descobriu que poderia chegar a Nova York por 90 libras. Era muito, e saiu de lá desconsolado. Viu Sam Cakebread na cafeteria do college. Passara vários dias tentando encontrar uma
oportunidade de conversar com Sam fora da redação da gazeta estudantil St. Julian’s News. Sam era editor-chefe da publicação, e Jasper, editor de notícias. Sam estava acompanhado pela irmã mais nova, Valerie, que também estudava no St. Julian’s e estava usando uma boina de tweed e um minivestido. Ela escrevia matérias de moda para a gazeta. Era bonita; em outras circunstâncias, Jasper a teria paquerado, mas nesse dia estava com outras preocupações. Teria preferido falar com Sam sozinho, mas decidiu que a presença de Valerie não era um problema tão grande assim. Levou seu café até a mesa do outro rapaz. – Queria um conselho seu – começou. Na realidade queria informações, não conselhos, mas as pessoas às vezes relutavam em compartilhar informações, ao passo que sempre ficavam lisonjeadas quando alguém lhes pedia conselhos. De paletó espinha de peixe e gravata, Sam fumava um charuto; talvez quisesse parecer mais velho. – Sente-se – falou, dobrando o jornal que estava lendo. Jasper se acomodou. Sua relação com Sam era canhestra. Eles haviam competido pelo cargo de editor, e o escolhido fora Sam. Jasper escondera seu recalque e o outro rapaz o nomeara editor de notícias. Tinham virado colegas, mas não amigos. – Quero ser editor no ano que vem – disse Jasper. Esperava que Sam o ajudasse, ou por ele ser a pessoa certa para o cargo, coisa que era mesmo, ou então por culpa. – Quem decide isso é Lorde Jane – respondeu Sam, evasivo. Jane era o diretor do college. – Ele vai pedir a sua opinião. – Existe um comitê de nomeação. – Mas você e o diretor são os membros que contam. Sam não negou essa afirmação. – Quer dizer que você quer o meu conselho? – Quem mais está concorrendo? – Toby, claro. – Sério? Toby Jenkins era editor de matérias especiais, um jornalista esforçado que havia produzido uma série sem graça de matérias louváveis sobre o trabalho de funcionários como o chefe do registro acadêmico e o tesoureiro. – Ele vai se candidatar. O próprio Sam havia conseguido o emprego em parte por causa dos renomados jornalistas em sua família. Lorde Jane se deixava impressionar por esse tipo de contato, o que irritava Jasper, mas ele não comentou nada. – As matérias de Toby são banais – falou.
– Ele pode não ter imaginação, mas é um repórter meticuloso. Jasper viu nesse comentário uma alfinetada a si próprio. Ele era o oposto de Toby. Entre o efeito e a precisão, preferia o efeito. Em suas matérias, qualquer altercação virava sempre uma briga, todo plano, uma conspiração, e um ato falho nunca era nada menos do que uma mentira deslavada. Ele sabia que as pessoas liam jornais para sentir emoção, não para se informar. – E ele escreveu aquele artigo sobre os ratos no refeitório. – Foi mesmo. – Jasper tinha esquecido. A matéria causara indignação. Na realidade, fora pura sorte: o pai de Toby trabalhava para o conselho municipal e sabia sobre o esforço do departamento de controle de pestes para erradicar os roedores nas adegas setecentistas de St. Julian’s. Apesar disso, a matéria valera a Toby o cargo de editor de matérias especiais, e ele nunca mais tinha escrito nada que sequer chegasse perto de ser tão bom. – Então eu preciso de um furo – falou, pensativo. – Pode ser. – Um furo tipo revelar que o diretor está usando recursos da universidade para pagar dívidas de jogo. – Duvido que Lorde Gamble jogue. – Sam não tinha muito senso de humor. Jasper pensou em Lorde Williams. Será que Lloyd poderia lhe dar alguma dica? Infelizmente, ele era muito discreto. Então pensou em Evie. Ela havia se candidatado à Escola de Arte Dramática, que fazia parte do mesmo college, portanto era um personagem interessante para a gazeta estudantil. Acabara de arrumar seu primeiro papel como atriz em um filme chamado Miranda está cercada. E estava saindo com Hank Remington, do The Kords. Quem sabe... Jasper se levantou. – Obrigado pela sua ajuda, Sam. Estou muito agradecido mesmo. – Disponha. Jasper voltou para casa de metrô. Quanto mais pensava em entrevistar Evie, mais animado ficava. Conhecia a verdade sobre Evie e Hank. Os dois não estavam só saindo, mas tendo um tórrido caso de amor. Seus pais sabiam que ela saía com Hank duas ou três noites por semana e chegava em casa à meia-noite aos sábados, mas Jasper e Dave também sabiam que, na maior parte dos dias de semana, depois do colégio, Evie ia para o apartamento dele, em Chelsea, onde transavam. Hank já tinha escrito uma música sobre ela, “Too Young to Smoke”, ou seja, “jovem demais para fumar”. Mas será que ela daria uma entrevista para Jasper? Ao chegar à casa da Great Peter Street, encontrou-a na cozinha de lajotas vermelhas decorando um texto. Seus cabelos estavam presos de qualquer maneira e ela usava uma camiseta velha e desbotada, mas mesmo assim estava deslumbrante. O relacionamento de
Jasper com ela era caloroso. Durante todo o tempo que havia durado sua paixonite juvenil por ele, Jasper sempre se mostrara gentil, embora jamais a tivesse encorajado. Seu motivo para tamanha cautela era não querer uma crise que pudesse abrir uma distância entre ele e os generosos e hospitaleiros pais da moça. Agora, estava ainda mais satisfeito por ter mantido boas relações com ela. – Como está indo? – indagou, meneando a cabeça para o roteiro. Ela deu de ombros. – O papel não é difícil, mas o filme vai ser um novo desafio. – Talvez eu devesse entrevistar você. Ela fez uma cara preocupada. – Só posso fazer publicidade se for organizada pelo estúdio. Jasper sentiu um leve pânico. Que espécie de jornalista ele daria se não conseguisse uma entrevista com Evie, mesmo morando na mesma casa que ela? – É só para a gazeta estudantil – falou. – Acho que isso não conta. A esperança dele aumentou. – Com certeza não. E talvez ajude você a ser aceita na Escola Irving de Arte Dramática. Evie largou o roteiro. – Está bem. O que você quer saber? Jasper reprimiu a sensação de triunfo. Com uma voz controlada, perguntou: – Como conseguiu o papel no filme? – Fiz um teste. – Me conte como foi. – Ele sacou um bloquinho e começou a anotar. Tomou cuidado para não fazer referência à sua cena de nu em Hamlet. Teve medo de ela lhe dizer para não mencionar isso na entrevista. Felizmente, não precisava lhe fazer nenhuma pergunta a respeito, uma vez que vira com os próprios olhos. Perguntou-lhe, isso sim, sobre os astros do filme e outras pessoas famosas que ela havia conhecido, e aos poucos foi chegando em Hank Remington. Quando ele pronunciou o nome de Hank, os olhos de Evie se acenderam com uma intensidade reveladora. – Hank é a pessoa mais dedicada e corajosa que eu conheço – disse ela. – Eu o admiro muito. – Mas não é só admiração. – Eu o adoro. – E vocês estão namorando. – Sim, mas não quero falar muito sobre isso. – Claro, sem problemas. – Ela já tinha dito “sim”, e isso bastava. Dave chegou do colégio e preparou um café solúvel com leite fervendo. – Achei que você não pudesse fazer publicidade – comentou com a irmã.
Cale essa boca, seu merdinha privilegiado, pensou Jasper. – É só para o St. Julian’s News – respondeu ela a Dave. Jasper escreveu a matéria naquela mesma noite. Assim que a viu datilografada, entendeu que aquilo poderia ser mais do que um texto para a gazeta estudantil. Hank era um astro; Evie, uma atriz em ascensão; e Lloyd, deputado: aquilo poderia ser uma grande notícia, pensou, cada vez mais animado. Se conseguisse publicar o texto em um jornal de circulação nacional, suas perspectivas de carreira ganhariam um fôlego considerável. E ele também poderia ter problemas com a família Williams. Entregou a matéria a Sam Cakebread no dia seguinte. Então, com grande ansiedade, ligou para o tabloide Daily Echo. Pediu para falar com o editor de notícias. Não conseguiu, mas passaram-no para um repórter chamado Barry Pugh. – Sou estudante de jornalismo e tenho uma notícia para o senhor – falou. – Ok, pode falar. Jasper hesitou apenas um instante. Sabia que estava traindo Evie e a família Williams inteira, mas mesmo assim foi em frente: – É sobre a filha de um membro do Parlamento que está transando com um astro pop. – Muito bom – disse Pugh. – Quem são? – Podemos nos encontrar? – Imagino que o senhor queira dinheiro. – Sim, mas não é só isso. – O que mais, então? – Quero assinar o texto quando ele for publicado. – Primeiro me passe a matéria, depois veremos. Pugh estava tentando usar as mesmas bajulações que Jasper tinha usado com Evie. – Não, obrigado – respondeu ele, firme. – Se vocês não gostarem da matéria, não precisam publicar, mas, se a publicarem, têm que pôr meu nome. – Certo. Quando podemos nos encontrar?
Dois dias mais tarde, durante o café da manhã na Great Peter Street, Jasper leu no Guardian que Martin Luther King estava planejando uma imensa manifestação de desobediência civil em Washington, em apoio a uma Lei de Direitos civis. O reverendo previa a participação de cem mil manifestantes. – Rapaz, eu adoraria ver isso – comentou. – Eu também – falou Evie. O evento seria em agosto, durante as férias universitárias, de modo que Jasper estaria
livre. Só que não tinha as 90 libras necessárias para a passagem para os Estados Unidos. Daisy Williams abriu um envelope e exclamou: – Meu Deus! Lloyd, uma carta da sua prima alemã, Rebecca! Dave, que era o caçula, engoliu um punhado de cereal com açúcar e perguntou: – Quem diabo é Rebecca? Seu pai, que folheava os jornais com a velocidade de um político profissional, ergueu os olhos e disse: – Ela não é minha prima de verdade. Foi adotada por uns parentes distantes meus depois que os pais dela morreram na guerra. – Eu nem lembrava que tínhamos parentes alemães – disse Dave. – Gott in Himmel! Jasper já tinha percebido que Lloyd sempre se mostrava suspeitamente vago em relação aos parentes. O finado Bernie Leckwith era seu padrasto, mas ninguém nunca mencionava seu verdadeiro pai. Jasper tinha certeza de que Lloyd era filho ilegítimo. Aquilo não chegava a dar matéria para um tabloide; a ilegitimidade não era uma desgraça tão grande quanto já fora. Mesmo assim, Lloyd nunca dava detalhes. Ele retomou: – A última vez que vi Rebecca foi em 1948. Ela devia ter uns 17 anos. A essa altura, já tinha sido adotada pela minha parente, Carla Franck. Eles moravam em Berlim-Mitte, então sua casa deve estar do lado errado do muro. O que ela conta? – Está óbvio que ela deu um jeito de sair da Alemanha Oriental e se mudar para Hamburgo. Ah... o marido dela se feriu na fuga, e agora anda de cadeira de rodas. – Por que ela nos escreveu? – Está tentando encontrar Hannelore Rothmann. – Daisy olhou para Jasper. – Era a sua avó. Parece que ela foi bondosa com Rebecca durante a guerra, no dia em que seus pais morreram. Jasper não conhecera a família da mãe. – Nós não sabemos exatamente o que aconteceu com meus avós alemães, mas mamãe tem certeza de que eles morreram – falou. – Vou mostrar esta carta à sua mãe – disse Daisy. – Ela deveria escrever para Rebecca. Lloyd abriu o Daily Echo e exclamou: – Que diabo é isso?! Jasper estava esperando esse momento. Uniu as mãos no colo para impedir que tremessem. Lloyd abriu o jornal em cima da mesa. Na página três havia uma foto de Evie saindo de uma boate com Hank Remington e o título:
ASTRO DO KORDS HANK & FILHA DE DEPUTADO TRABALHISTA, 17 ANOS, QUE JÁ APARECEU NUA NO PALCO
Por Barry Pugh & Jasper Murray – Eu não escrevi isso! – mentiu Jasper. Sua indignação lhe soou forçada; o que ele estava sentindo na realidade era júbilo por ver
o próprio nome na matéria de um jornal de circulação nacional. Os outros não pareceram notar suas emoções contraditórias. Lloyd leu em voz alta: – “A mais recente paixão do astro pop Hank Remington é a filha de apenas 17 anos de Lloyd Williams, membro do Parlamento por Hoxton. Estrela do cinema em ascensão, Evie Williams é famosa por ter aparecido nua em um palco da chique escola de ensino fundamental de Lambeth, onde estudam os filhos dos ricos.” – Ai, que vergonha – comentou Daisy. Lloyd prosseguiu a leitura: – “Segundo Evie, ‘Hank é a pessoa mais corajosa e dedicada que eu já conheci’. Tanto a moça quanto o namorado apoiam a Campanha pelo Desarmamento Nuclear, apesar da reprovação do pai dela, que é o porta-voz trabalhista para assuntos militares.” – Lloyd olhou para Evie com um ar severo. – Você conhece muita gente corajosa e dedicada, a começar pela sua mãe, que dirigiu uma ambulância durante a Blitz, e pelo seu tio-avô Billy Williams, que lutou na Batalha do Somme. Hank deve ser mesmo notável para ofuscar essas pessoas. – Deixe isso para lá – disse Daisy. – Evie, achei que você não pudesse dar entrevistas sem autorização do estúdio. – Ai, meu Deus, a culpa é minha – disse Jasper. Todos olharam para ele. O rapaz sabia que haveria uma cena como aquela, e estava preparado. Não teve a menor dificuldade em fingir que estava abalado: sentia mesmo uma culpa tremenda. – Eu entrevistei Evie para a gazeta estudantil. O Echo deve ter pegado a minha matéria e reescrito para torná-la sensacionalista. Ele havia preparado essa história de antemão. – Primeira lição da vida pública – disse Lloyd. – Jornalistas são traiçoeiros. Eu sou mesmo traiçoeiro, pensou Jasper. Mas a família Williams pareceu aceitar o fato de ele não ter tido a intenção de fazer o Echo publicar a matéria. Evie estava à beira das lágrimas. – Pode ser que eu perca o papel. – Não posso imaginar que isso vá prejudicar o filme de alguma forma... muito pelo contrário – disse Daisy. – Espero que você esteja certa. – Eu sinto muito, Evie, muito mesmo – falou Jasper, com toda a sinceridade de que foi capaz. – Sinto que decepcionei você de verdade. – Não foi por querer – retrucou Evie. Ele tinha conseguido se safar. Em volta da mesa, ninguém o encarava com ar acusador. Todos consideravam que a matéria do Echo não era culpa de ninguém. A única pessoa em relação à qual ele não tinha certeza era Daisy, que mantinha a testa levemente franzida e evitava encará-lo. Mas ela amava Jasper por causa de sua mãe, e não iria acusá-lo de duplicidade. Ele se levantou.
– Vou à redação do Daily Echo – falou. – Quero conhecer esse patife chamado Pugh e ver que explicação ele tem para me dar. Sentiu-se aliviado ao sair de casa. Acabara de dar conta de uma cena difícil graças à sua capacidade de mentir, e sentiu um alívio colossal. Uma hora mais tarde, chegou à redação do Echo. Estar ali o deixou entusiasmado. Era aquilo que ele queria: a redação, as máquinas de escrever, os telefones tocando, os tubos pneumáticos para transportar textos de um lado para outro da sala, a atmosfera de animação. Barry Pugh tinha uns 25 anos, era baixo e tinha uns olhinhos apertados; estava usando um terno amarfanhado e sapatos de camurça gastos. – O senhor se saiu bem – comentou. – Evie ainda não sabe que fui eu que passei a matéria. Pugh não deu a menor atenção aos escrúpulos de Jasper: – Se pedíssemos permissão toda vez, pouquíssimas matérias seriam publicadas. – Ela deveria ter recusado todas as entrevistas, menos as organizadas pelo relaçõespúblicas do estúdio. – Os relações-públicas são seus inimigos. Tenha orgulho por ter sido mais esperto do que um deles. – Eu tenho. Pugh lhe entregou um envelope, que Jasper abriu com um rasgão. Lá dentro encontrou um cheque. – Seu pagamento – disse Pugh. – É isso que se ganha pela matéria principal da página três. Observou a quantia: 90 libras. Lembrou-se da passeata em Washington. Noventa libras era o preço da passagem para os Estados Unidos. Ele agora podia ir. Ficou animado. Guardou o cheque no bolso e disse: – Muito obrigado. Barry meneou a cabeça. – Avise se tiver mais matérias desse tipo.
Dave Williams estava nervoso por tocar no Jump Club, casa de espetáculos extremamente bacana no centro de Londres, bem ao lado da Oxford Street. O estabelecimento tinha reputação de lançar novos astros e havia apresentado ao público vários grupos agora nas paradas de sucesso. Músicos famosos frequentavam o lugar para ouvir novos talentos. Não que o clube tivesse algo de especial. Havia um pequeno palco em um dos cantos, um balcão de bar no outro e, no meio, um espaço onde as pessoas podiam dançar umas coladas às outras. O chão mais parecia um cinzeiro. A única decoração consistia em alguns cartazes
rasgados de músicos famosos que haviam se apresentado ali um dia, menos no camarim, onde as paredes exibiam os desenhos mais obscenos que Dave já vira na vida. Seu desempenho com os Guardsmen tinha melhorado, em parte graças aos úteis conselhos do primo. Lenny tinha um carinho especial por Dave e falava com ele como um tio, embora fosse apenas oito anos mais velho. “Escute o baterista”, dizia-lhe Lenny. “Assim você nunca vai sair do ritmo.” E: “Aprenda a tocar sem olhar para a guitarra, para poder encarar o público.” Dave agradecia qualquer dica que lhe dessem, mas sabia que ainda estava longe de parecer um profissional. Mesmo assim, estar no palco lhe proporcionava uma sensação maravilhosa. Como não era preciso ler nem escrever nada, ele não era mais um idiota; na verdade, era competente e estava melhorando. Começara até a ter fantasias sobre virar músico e nunca mais ter de estudar, embora soubesse que as chances eram pequenas. Mas o grupo estava melhorando. Quando Dave cantava em harmonia com Lenny, eles soavam modernos, parecidos com os Beatles. E Dave convencera Lenny a tentar batidas diferentes, autênticos blues de Chicago e música soul de Detroit, boa para dançar, o tipo de coisa que os grupos mais jovens estavam tocando. Consequentemente, estavam conseguindo mais apresentações e, em vez de uma vez a cada duas semanas, agora tocavam toda sexta e todo sábado à noite. Mas Dave tinha outro motivo para estar nervoso. Conseguira aquela apresentação pedindo a Hank Remington, namorado de Evie, que recomendasse o grupo. Mas Hank havia torcido o nariz para o nome. – Guardsmen soa antiquado, como os Four Aces ou os Jordanaires. – A gente talvez mude o nome – retrucara Dave, disposto a qualquer coisa por um show no Jump Club. – A última moda é o nome de algum blues antigo, como os Rolling Stones. Dave se lembrou da faixa de um disco de Booker T. & The MG’s que havia escutado alguns dias antes. O nome esquisito lhe chamara a atenção. – Que tal Plum Nellie? – sugeriu. Hank gostou e disse ao pessoal do clube que eles deveriam testar um grupo novo chamado Plum Nellie. A sugestão de alguém famoso como Hank era como uma ordem, e eles conseguiram a data. Quando Dave sugeriu a mudança de nome, porém, Lenny foi terminantemente contra. – O nosso nome é Guardsmen e vai continuar sendo Guardsmen – disse ele, teimoso, e começou a falar de outra coisa. Dave não se atrevera a lhe avisar que o Jump Club já pensava que o nome do grupo fosse Plum Nellie. E agora o momento da crise estava se aproximando. Na passagem de som, eles tocaram “Lucille”. Depois da primeira estrofe, Dave parou e se virou para Geoffrey, o guitarrista solo. – Que porra foi essa?
– O quê? – Você tocou alguma coisa esquisita no meio. Geoffrey abriu um sorriso experiente. – Não foi nada. Só um acorde de passagem. – Não está no disco. – E daí? Por acaso não sabe tocar um dó sustenido diminuto? Dave sabia exatamente o que estava acontecendo: Geoffrey tentava fazê-lo passar por novato. Infelizmente, porém, nunca tinha ouvido falar em acorde diminuto. – Os pianistas de bar chamam de acorde menor com a quinta diminuta, Dave – explicou Lenny. – Me mostre – pediu ele a Geoffrey, engolindo o próprio orgulho. Geoffrey revirou os olhos e suspirou, mas demonstrou como se formava o acorde. – Assim, ok? – falou, como se estivesse farto de lidar com amadores. Dave imitou o acorde. Não era difícil. – Da próxima vez, me avise antes de a gente tocar a porra da música. Depois disso, tudo correu bem. Phil Burleigh, dono do clube, apareceu e ficou escutando. Por ter perdido os cabelos muito cedo, era conhecido naturalmente como Phil Cabeleira. No final, meneou a cabeça para mostrar que tinha gostado. – Obrigado, Plum Nellie – falou. Lenny lançou um olhar irado para Dave. – O grupo se chama Guardsmen – disse, firme. – Nós falamos em mudar o nome. – Quem falou foi você. Eu disse não. – The Guardsmen é péssimo, cara – falou Curly. – Mas é o nosso nome. – Escutem, Byron Chesterfield vai vir aqui hoje à noite. – Curly disse isso com um traço de desespero na voz. – Ele é o promotor mais importante de Londres, e provavelmente da Europa. Vocês podem conseguir trabalho com ele... mas não com esse nome. – Byron Chesterfield? – disse Lenny, rindo. – Eu o conheço desde que somos crianças. Ele na verdade se chama Brian Chesnowitz. O irmão dele tem uma barraca no mercado de Aldgate. – Não é com o nome dele que eu estou preocupado, mas com o de vocês. – Não tem nada de errado com o nosso nome. – Não posso apresentar um grupo chamado Guardsmen. Tenho uma reputação a zelar. – Curly se levantou. – Foi mal, rapazes. Podem embalar seu equipamento. – Ah, Curly, vamos lá, você não vai querer deixar Hank Remington puto – disse Dave. – Hank é um velho amigo – retrucou Curly. – Nós tocamos skiffle no café 2i’s nos anos 1950. Só que ele me recomendou um grupo chamado Plum Nellie, não Guardsmen. Dave começou a se desesperar.
– Todos os meus amigos vêm! Estava pensando particularmente em Linda Robertson. – Eu sinto muito – falou Curly. Dave se virou para o primo. – Pense bem. Que importância tem um nome? – O grupo é meu, não seu – argumentou Lenny, teimoso. Então o problema era esse. – É claro que o grupo é seu – rebateu. – Mas você me ensinou que o cliente tem sempre razão. – Ele teve uma inspiração: – E pode mudar o nome de volta para Guardsmen amanhã de manhã, se quiser. – Não – insistiu Lenny, mas estava começando a ceder. – É melhor do que não tocar – continuou Dave, aproveitando sua vantagem. – Voltar para casa agora seria uma baita decepção. – Ah, então tá, que se foda – disse Lenny. E a crise acabou, para intenso alívio e satisfação de Dave. Eles ficaram no bar tomando cerveja enquanto os primeiros clientes iam chegando. Dave se ateve a um chope grande: o suficiente para deixá-lo relaxado, mas não para fazê-lo se enrolar nos acordes. Lenny tomou dois chopes, e Geoffrey, três. Para deleite de Dave, Linda Robertson apareceu usando um minivestido roxo e botas brancas até os joelhos. Pela lei, ela e todos os outros amigos de Dave eram jovens demais para beber em bares, mas se esforçavam muito para parecer mais velhos e, de todo modo, a aplicação da lei não era muito rígida. O comportamento de Linda com ele havia mudado. Antigamente, embora tivessem a mesma idade, ela o tratava como um irmão mais novo inteligente. O fato de ele estar tocando no Jump Club o tornava uma pessoa diferente aos seus olhos. Ela agora o considerava um adulto sofisticado e lhe fez várias perguntas sobre o grupo. Se aquilo era o que acontecia quando ele usava aquela roupa vagabunda de Lenny, qual seria a sensação de ser um verdadeiro astro pop?, pensou. Junto com os outros músicos, foi para o camarim se trocar. Grupos profissionais em geral se apresentavam usando ternos idênticos, mas isso custava caro. Lenny conseguiu emplacar um meio-termo: camisas vermelhas para todos. Para Dave, os uniformes estavam saindo de moda; os anárquicos Rolling Stones já se vestiam cada um de um jeito. Como era o grupo menos importante da noite, o Plum Nellie tocou primeiro. Lenny, por ser o líder, apresentou as músicas sentado na beira do palco, com o piano vertical posicionado de modo a permitir-lhe ver o público. Dave ficou no meio, tocando e cantando, e atraiu a maior parte da atenção. Agora que a preocupação com o nome da banda havia passado, pelo menos por enquanto, podia relaxar. Movimentou-se enquanto tocava, balançando a guitarra como se fosse uma parceira de dança e, ao cantar, imaginou estar falando com o público e enfatizou as palavras com expressões faciais e movimentos da cabeça. Como sempre, as garotas reagiram
e começaram a olhar para ele e sorrir enquanto dançavam ao ritmo da música. Depois da apresentação, Byron Chesterfield foi ao camarim. Tinha cerca de 40 anos e estava usando um lindo terno azul-claro de três peças. A gravata era florida, cheia de margaridas. Seus cabelos já rareavam de ambos os lados de um antiquado topete besuntado de brilhantina. Junto com ele, entrou uma onda de água-de-colônia. – Seu grupo não é nada mau – falou, dirigindo-se a Dave. Dave apontou para o primo. – Obrigado, Sr. Chesterfield, mas o grupo é do Lenny. – Oi, Brian. Não se lembra de mim? Depois de hesitar por alguns instantes, Byron respondeu: – Nossa! Lenny Avery! – Seu sotaque londrino se acentuou: – Jamais teria reconhecido você! Como vai a barraca? – Vai bem, melhor do que nunca. – Seu grupo é bom, Lenny: baixo e bateria sólidos, boas guitarras e piano. Gostei das harmonias vocais. – Ele apontou para Dave com o polegar. – E as moças adoraram o garoto ali. Vocês têm tocado bastante? Dave ficou animado. Byron Chesterfield tinha gostado do grupo! – Todos os fins de semana – respondeu Lenny. – Eu poderia conseguir seis semanas de shows para vocês no verão, fora de Londres, se estiverem interessados – disse Byron. – Cinco noites por semana, de terça a sábado. – Não sei – respondeu Lenny com indiferença. – Eu teria de pedir para minha irmã cuidar da barraca enquanto estivesse fora. – Noventa libras por semana na sua mão, sem descontos. Era mais do que eles jamais haviam recebido, calculou Dave. E com sorte as datas cairiam durante as férias escolares. Irritou-se ao ver que Lenny ainda parecia em dúvida. – E quanto à hospedagem e à comida? – perguntou Lenny. Então Dave percebeu que o primo não estava desinteressado, mas negociando. – Hospedagem incluída; comida, não – respondeu Byron. Dave pensou se as apresentações seriam em um balneário à beira-mar, onde havia trabalho temporário para artistas. – Eu não poderia largar a barraca por essa quantia, Brian – disse Lenny. – Pena que não sejam 120 libras por mês. Aí eu poderia pensar no assunto. – A casa talvez chegue a 95 como um favor pessoal a mim. – Cento e dez, então. – Se eu abrir mão do meu cachê, posso chegar a 100. Lenny olhou para o restante do grupo. – O que acham, rapazes? Todos queriam aceitar.
– Onde vai ser? – quis saber Lenny. – Em um clube chamado The Dive. Lenny balançou a cabeça. – Nunca ouvi falar. Onde fica? – Eu já não falei? – indagou Byron Chesterfield. – Em Hamburgo.
Dave mal conseguia se conter de tanta animação. Seis semanas de apresentação – e na Alemanha! Legalmente, tinha idade suficiente para largar a escola. Será que havia uma chance de se tornar músico profissional? Empolgadíssimo, levou sua guitarra, seu amplificador e Linda Robertson para a casa da Great Peter Street, com a intenção de deixar o equipamento lá antes de acompanhá-la a pé até em casa, em Chelsea. Infelizmente, seus pais ainda estavam acordados, e Daisy o abordou no hall. – Como foi? – quis saber, animada. – Foi ótimo. Só vim deixar meu equipamento e vou levar Linda. – Oi, Linda – cumprimentou Daisy. – Que prazer revê-la. – Como vai? – respondeu Linda, educada, fazendo-se passar por uma colegial recatada; mas Dave pôde ver a mãe reparando no vestido curto e nas botas provocantes. – O clube vai chamar vocês de novo? – Bom, um promotor chamado Byron Chesterfield nos ofereceu um emprego de verão em outro clube. É ótimo, porque vai ser bem durante as férias. Seu pai saiu da sala íntima ainda usando o terno da reunião política de sábado à noite da qual devia ter participado. – O que vai ser bem durante as férias? – Nosso grupo foi contratado para seis semanas de apresentações. Lloyd franziu a testa. – Você precisa estudar nas férias. Ano que vem vai ter que fazer as importantíssimas provas do fim do ginásio. Até agora, suas notas não estão nem de longe boas o suficiente para permitir que você passe o verão sem fazer nada. – Eu posso estudar de dia. Só vamos tocar à noite. – Hum. Você obviamente não liga se perder as férias anuais com a família em Tenby. – Ligo, sim – mentiu Dave. – Adoro Tenby. Mas é uma oportunidade incrível. – Bom, não vejo como vamos poder deixar você sozinho nesta casa durante semanas enquanto estivermos no País de Gales. Você só tem 15 anos. – Ahn, o clube não fica em Londres – disse Dave. – Onde fica? – Hamburgo.
– O quê?! – exclamou Daisy. – Deixe de ser ridículo – falou Lloyd. – Acha que vamos deixar você fazer isso na sua idade? Para começar, pelas leis trabalhistas da Alemanha, isso deve ser ilegal. – Nem todas as leis são aplicadas com rigidez – argumentou Dave. – Aposto que você comprava bebida ilegalmente em pubs antes dos 18. – Eu fui à Alemanha com minha mãe quando tinha 18 anos. Com certeza nunca passei um mês e meio em um país estrangeiro aos 15, sem ninguém para me vigiar. – Eu não vou estar sem ninguém para me vigiar. Lenny vai comigo. – Não acho que seu primo seja um acompanhante confiável. – Acompanhante? – repetiu Dave, indignado. – E por acaso eu sou o quê, uma donzela vitoriana? – Pela lei, você é uma criança, um adolescente, na verdade. Certamente não é um adulto. – Você tem uma prima em Hamburgo – implorou Dave. – Rebecca. Ela escreveu para mamãe. Poderia pedir a ela para cuidar de mim. – Rebecca é uma prima distante que não vejo há dezesseis anos. Não é um vínculo próximo o suficiente para eu despejar um adolescente indisciplinado na casa dela durante todo o verão. Até com minha irmã eu hesitaria em fazer isso. Daisy adotou um tom conciliatório: – Pela carta, tive a impressão de que Rebecca é uma boa pessoa, Lloyd. E não acho que tenha filhos. Ela talvez não se importe se pedirmos. Lloyd adotou uma expressão irritada. – Você quer mesmo que Dave faça isso? – Não, claro que não. Se tudo corresse como eu quero, ele iria para Tenby conosco. Mas ele está crescendo e talvez seja hora de soltarmos um pouco as rédeas. – Ela olhou para o filho. – Ele vai ver que é mais trabalho e menos diversão do que imagina, mas talvez aprenda algumas lições de vida. – Não – disse Lloyd, como quem encerra o assunto. – Se ele tivesse 18 anos, talvez eu deixasse. Mas ele é muito jovem ainda. Jovem demais. A vontade de Dave era ao mesmo tempo dar um grito de raiva e cair em prantos. Será que seus pais iriam mesmo estragar aquela oportunidade? – Está tarde – falou Daisy. – Amanhã nós conversamos sobre isso. Dave precisa levar Linda em casa antes que os pais dela comecem a ficar preocupados. Dave hesitou; não queria deixar o assunto sem solução. Lloyd foi até o pé da escada. – Nem adianta se animar – disse ao filho. – Não vai acontecer. Dave abriu a porta da frente. Se saísse agora, sem dizer mais nada, deixaria os pais com a impressão errada. Precisava fazê-los entender que não seria fácil impedi-lo de ir a Hamburgo. – Escute aqui, pai – falou, e Lloyd fez cara de espantado. Dave tomou coragem: – Pela primeira vez na vida estou tendo sucesso em alguma coisa. Escute bem o que vou dizer: se
você tentar tirar isso de mim, eu saio de casa. E juro que, se sair, nunca, nunca mais vou voltar. Conduziu Linda para fora de casa e bateu a porta com força.
CAPÍTULO VINTE E QUATRO
Tanya Dvorkin estava de volta a Moscou, mas Vasili Yenkov, não. Depois de os dois serem presos durante a leitura de poemas na Praça Maiakovski, Vasili havia sido condenado por “atividades e propaganda antissoviéticas” e recebido uma pena de dois anos em um campo de trabalho na Sibéria. Tanya sentia-se culpada: fora parceira de Vasili no crime, mas conseguira se safar. Imaginou que ele devesse ter sido espancado e interrogado. Ela, porém, continuava livre e trabalhando como jornalista, ou seja, ele não a denunciara. Talvez tivesse se recusado a falar. O mais provável era que tivesse citado colaboradores fictícios plausíveis, que a KGB acreditava serem apenas difíceis de encontrar. No verão de 1963, a pena de Vasili chegou ao fim. Se estivesse vivo – se houvesse sobrevivido ao frio, à fome e às doenças que matavam tantos prisioneiros nos campos de trabalho –, já deveria ter reaparecido. Mas não reaparecera, o que era mau sinal. Os prisioneiros em geral tinham autorização para enviar e receber por mês uma única carta, fortemente censurada, mas Vasili não podia escrever para Tanya, pois isso a denunciaria à KGB. Portanto, ela estava sem notícias e decerto a maioria dos amigos dele tampouco sabia de nada. Talvez ele escrevesse para a mãe, que Tanya não chegara a conhecer, em Leningrado; a colaboração entre os dois era segredo até para a mãe dele. Vasili era seu amigo mais próximo. Ela perdia o sono preocupada com ele. Será que ele estava doente ou mesmo morto? Talvez tivesse sido condenado por outro crime e tido a sentença prorrogada. Aquela incerteza a torturava. Chegava a lhe dar dor de cabeça. Certa tarde, arriscou-se a mencionar o nome de Vasili a seu chefe, Daniil Antonov. A editoria de matérias especiais da TASS ficava em uma sala grande, barulhenta, com vários jornalistas datilografando, falando ao telefone, lendo jornais e entrando e saindo da biblioteca de referência. Se ela falasse baixo, ninguém a escutaria. Começou dizendo: – O que aconteceu com Ustin Bodian, no fim das contas? Os maus-tratos ao cantor de ópera eram o assunto da edição do Dissidência escrita por Tanya que Vasili estivera distribuindo ao ser preso. – Morreu de pneumonia – respondeu Daniil. Isso Tanya já sabia. Só estava fingindo ignorância para conduzir a conversa até Vasili. – Um escritor foi preso junto comigo naquele dia... Vasili Yenkov – falou, em tom pensativo. – Alguma ideia do que aconteceu com ele? – O roteirista? Ele pegou dois anos. – Então já deve ter sido solto. – Pode ser. Não ouvi nenhuma notícia. Ele não vai conseguir o antigo emprego de volta, então não sei muito bem para onde poderia ir.
Ele voltaria para Moscou, Tanya tinha certeza. Apesar disso, deu de ombros para fingir indiferença e voltou a datilografar a matéria que estava escrevendo sobre uma mulher que trabalhava como pedreira. Já fizera várias perguntas discretas a pessoas que teriam sabido se Vasili houvesse voltado. Em todos os casos, a resposta havia sido a mesma: ninguém ouvira nada. Então, naquela mesma tarde, teve notícias. Terminado o trabalho, quando estava saindo do prédio da TASS, foi abordada por um desconhecido. – Tanya Dvorkin? – indagou uma voz, e ao se virar ela deparou com um homem pálido e magro vestido com roupas sujas. – Pois não? – falou, um pouco nervosa; não conseguia imaginar o que um homem daqueles poderia querer com ela. – Vasili Yenkov salvou minha vida. A frase foi tão inesperada que, por alguns segundos, ela não soube como responder. Perguntas demais lhe passaram pela cabeça: como o senhor conhece Vasili? Onde e quando ele salvou sua vida? Por que veio me procurar? Ele enfiou na sua mão um envelope sujo do tamanho de uma folha de papel normal e logo em seguida virou as costas. Tanya levou alguns instantes para conseguir voltar a raciocinar. Por fim, entendeu que havia uma pergunta mais importante do que todas as outras. Enquanto o homem ainda estava no raio de alcance de sua voz, perguntou: – Vasili está vivo? O desconhecido estacou e olhou para trás. A demora na resposta encheu de medo o coração de Tanya. Ele então disse: – Está. E ela sentiu a súbita leveza do alívio. O homem se afastou. – Espere! – chamou ela, mas ele apressou o passo e sumiu numa esquina. O envelope não estava lacrado. Tanya espiou lá dentro. Viu várias folhas de papel cobertas por uma caligrafia que reconheceu: era a de Vasili. Puxou-as para fora até a metade. A primeira trazia o título:
ENREGELAMENTO POR IVAN KUZNETSOV Tornou a enfiar as folhas no envelope e andou até o ponto de ônibus. Estava ao mesmo tempo assustada e animada. “Ivan Kuznetsov” era obviamente um pseudônimo, o nome mais comum que se poderia imaginar, como Hans Schmidt em alemão ou Jean Lefèvre em francês. Vasili tinha escrito alguma coisa, um artigo ou uma notícia. Ela mal podia esperar para ler, mas também precisou resistir ao impulso de jogar aquilo para longe como se fosse algo contaminado, pois com certeza devia ser subversivo.
Enfiou o envelope na bolsa. Como o ônibus chegou lotado – era fim do dia, horário de pico –, não pôde ler o manuscrito a caminho de casa sem o risco de alguém espiar por cima do seu ombro. Precisou conter a impaciência. Pensou no homem que havia lhe entregado os papéis. Estava malvestido, com cara de faminto e mal de saúde, e tinha uma expressão permanente de temor e atenção: igualzinho a alguém recém-saído da cadeia, pensou ela. Parecera aliviado por se livrar do envelope e relutara em lhe dizer mais do que o necessário. Mas pelo menos lhe explicara por que tinha aceitado aquela perigosa incumbência: estava pagando uma dívida. “Vasili Yenkov salvou minha vida”, tinha dito o homem. Mais uma vez, Tanya se perguntou como. Desceu do ônibus e foi a pé até a Casa do Governo. Ao retornar de Cuba, voltara a morar na casa da mãe. Não tinha motivo para arrumar o próprio apartamento e, caso tivesse, este seria bem menos luxuoso. Falou rapidamente com Anya, foi para o quarto e sentou-se na cama para ler o que Vasili tinha escrito. A caligrafia dele estava diferente. As letras agora eram menores, as ascendentes mais curtas, as caudas menos exuberantes. Será que aquilo refletia uma mudança de personalidade ou apenas uma escassez de papel?, perguntou-se. Começou a ler. Josef Ivanovich Maslov, conhecido como Soso, ficava radiante quando a comida chegava estragada. Em geral, os guardas roubavam a maior parte do carregamento para revender. Para os prisioneiros sobrava um mingau insosso de manhã e sopa de nabo à noite. Como na Sibéria a temperatura ambiente costuma ficar abaixo de zero, a comida raramente estragava, mas o comunismo fazia milagres. Assim, quando a carne às vezes ficava repleta de vermes e a gordura rançosa, o cozinheiro jogava tudo na panela e os prisioneiros comemoravam. Soso devorou uma kasha gordurosa feita com banha fedida, e ansiou por mais. Apesar de nauseada, Tanya não conseguiu parar de ler. A cada página, ia ficando mais impressionada. O texto falava sobre o relacionamento peculiar entre dois prisioneiros, o primeiro um dissidente intelectual, o segundo um gângster sem instrução. O estilo simples e direto de Vasili, surpreendentemente eficaz, descrevia a vida no campo com uma linguagem vívida e brutal. Mas havia mais do que apenas descrições. Talvez por causa da experiência em peças de teatro para o rádio, Vasili sabia como fazer uma história evoluir e Tanya constatou que seu interesse se mantinha constante. O campo fictício ficava dentro de uma floresta de alerces na Sibéria, e o trabalho dos prisioneiros era derrubar essas árvores coníferas. Como não havia regulamento de segurança nem roupas ou equipamento de proteção, os acidentes eram frequentes. Tanya prestou especial atenção em um episódio no qual o gângster rompeu uma artéria do próprio braço com uma serra e foi salvo pelo intelectual, que fez um torniquete em seu braço. Seria assim que Vasili tinha salvado a vida do mensageiro que trouxera aquele manuscrito da Sibéria até Moscou?
Tanya leu a história duas vezes. Era quase como se estivesse conversando com o amigo: o texto tinha a mesma estrutura de centenas de conversas e discussões que os dois tiveram, e ela reconheceu o tipo de coisa que Vasili considerava engraçada, dramática ou irônica. Seu coração doeu de tanta saudade. Agora que sabia que Vasili estava vivo, precisava descobrir por que ele não tinha voltado para Moscou. O texto não dava nenhuma pista sobre isso. Mas ela conhecia alguém capaz de descobrir quase qualquer coisa: seu irmão. Guardou o manuscrito na gaveta da mesinha de cabeceira. Saiu do quarto e disse à mãe: – Preciso falar com Dimka. Não demoro. Ela desceu de elevador até o andar em que o irmão morava. Sua cunhada Nina, grávida de nove meses, veio abrir a porta. – Você está com uma cara boa! – falou Tanya. Não era verdade. Nina já passara havia muito do estágio em que se diz que uma grávida está “resplandecente”. Estava imensa, com os seios dependurados e a barriga esticada feito um tambor. A pele clara estava pálida sob as sardas, e os cabelos castanho-arruivados estavam sebosos. Ela parecia ter bem mais do que seus 29 anos. – Pode entrar – falou, com voz cansada. Dimka estava assistindo ao noticiário na TV . Desligou o aparelho, deu um beijo na irmã e lhe ofereceu uma cerveja. No apartamento, estava também Masha, mãe de Nina, que viera de Perm de trem para ajudar a filha com o bebê. Camponesa baixinha e prematuramente enrugada, vestida toda de preto, estava visivelmente orgulhosa da filha instalada naquele luxuoso apartamento na cidade. Tanya ficara surpresa quando a conhecera, pois achava que a mãe de Nina fosse professora primária. No fim das contas, porém, ela só trabalhava na escola da aldeia como faxineira. Nina fingira que os pais tinham um status mais importante do que de fato tinham, prática tão comum, na opinião de Tanya, que chegava a ser quase universal. As três conversaram sobre a gestação. Tanya se perguntou como poderia conseguir falar a sós com o irmão. Não havia a menor chance de mencionar Vasili na frente de Nina ou de Masha. Por instinto, não confiava na cunhada. Por que tinha esse sentimento tão forte?, perguntou-se, culpada. Devia ser por causa da gravidez, pensou. Apesar de não ser nenhuma intelectual, Nina era inteligente, e não o tipo de mulher que engravidava por acidente. Embora nunca tivesse falado sobre isso com ninguém, Tanya desconfiava de que ela havia manipulado Dimka para fazê-lo se casar. Sabia que o irmão era sofisticado e experiente em relação a quase tudo, mas, em se tratando de mulheres, era ingênuo e romântico. Por que Nina tinha querido fazê-lo cair em uma armadilha? Porque os Dvorkin eram uma família de elite e ela era ambiciosa? Deixe de ser má, pensou. Passou meia hora jogando conversa fora, então se levantou para ir embora. Não havia nada de sobrenatural no relacionamento dos irmãos gêmeos, mas os dois se
conheciam tão bem que um geralmente conseguia adivinhar o que o outro estava pensando, e Dimka intuiu que Tanya não tinha ido lá conversar sobre a gravidez de Nina. Então se levantou também. – Preciso tirar o lixo – falou. – Você me ajuda, Tanya? Desceram de elevador, cada um com um balde de lixo na mão. Quando saíram para a rua atrás do prédio e não havia ninguém por perto, Dimka perguntou: – O que houve? – A sentença de Vasili Yenkov terminou, mas ele não voltou para Moscou. O semblante de Dimka ficou rígido. Tanya sabia que o irmão a amava, mas discordava de suas opiniões políticas. – Yenkov fez o possível para prejudicar o governo para o qual eu trabalho. Por que eu me importaria com o que acontece com ele? – Assim como você, ele acredita em liberdade e justiça. – O único resultado desse tipo de atividade subversiva é dar aos linhas-duras um pretexto para resistir às reformas. Tanya sabia que estava defendendo tanto Vasili quanto a si mesma. – Se não fosse por gente como ele, os linhas-duras diriam que está tudo bem e não haveria pressão alguma por mudanças. Como alguém ficaria sabendo que eles mataram Ustin Bodian, por exemplo? – Bodian morreu de pneumonia. – Dimka, você é melhor do que isso. Ele morreu de negligência e você sabe muito bem. – Tem razão. – Ele assumiu um ar contrito. – Você está apaixonada por Vasili Yenkov? – perguntou, com a voz mais branda. – Não. Eu gosto dele. Ele é divertido, inteligente, corajoso. Mas é o tipo de homem que precisa de uma sucessão de meninas novas. – Ou era. Não existem ninfetas em um campo de prisioneiros. – Enfim, ele é meu amigo e já cumpriu sua pena. – O mundo está repleto de injustiças. – Eu quero saber o que aconteceu com ele, e você pode descobrir para mim. Se quiser. Dimka suspirou. – E a minha carreira? No Kremlin, a compaixão por dissidentes injustiçados não é considerada uma virtude. Tanya sentiu a esperança aumentar. Ele estava cedendo. – Por favor. É muito importante para mim. – Não posso prometer nada. – Se fizer o melhor que puder, já está bom. – Tudo bem. Tomada pela gratidão, Tanya lhe deu um beijo na bochecha. – Você é um bom irmão. Obrigada.
Da mesma forma que os esquimós são conhecidos por ter várias palavras para se referir à neve, os cidadãos de Moscou tinham várias expressões para o mercado negro. Tirando as necessidades mais básicas da vida, todo o resto precisava ser comprado “à esquerda”. Muitas dessas transações eram claramente criminosas: você encontrava um sujeito que contrabandeava calças jeans do Ocidente e lhe pagava um preço exorbitante. Outras não eram nem legais nem ilegais. Para comprar um rádio ou um tapete, podia ser preciso colocar o nome em uma lista de espera; mas era possível subir para o topo da lista “por empurrão”, caso você fosse uma pessoa influente ou tivesse a possibilidade de retribuir o favor, ou então “por amigos”, caso tivesse algum parente ou amigo em condição de manipular a lista. Furar a fila era uma prática tão disseminada que a maioria dos moscovitas acreditava que ninguém nunca chegava ao topo de uma lista simplesmente esperando. Certo dia, Natalya Smotrov pediu a Dimka para ir com ela comprar uma coisa no mercado negro. – Em geral eu pediria ao Nik – falou, referindo-se ao marido, Nikolai. – Só que é o presente de aniversário dele, e quero fazer surpresa. Dimka agora sabia um pouco sobre a vida de Natalya fora do Kremlin. Ela era casada e não tinha filhos; seu conhecimento parava mais ou menos por aí. Os apparatchiks do Kremlin faziam parte da elite soviética, mas o Mercedes de Natalya e seu perfume importado indicavam alguma outra fonte de privilégio e dinheiro. Se havia algum Nikolai Smotrov nos altos escalões da hierarquia comunista, porém, Dimka nunca ouvira falar nele. – O que vai dar a ele? – Um gravador. Ele quer um Grundig... é uma marca alemã. Só no mercado negro um cidadão soviético conseguia comprar um gravador alemão. Dimka se perguntou como Natalya podia pagar um presente tão caro. – E onde vai encontrar um? – indagou. – No Mercado Central tem um cara chamado Max. Esse mercado, que ficava na Rua Sadovaya Samotyochnaya, era uma alternativa legal às lojas estatais onde produtos cultivados em jardins particulares eram vendidos a preços mais altos. Em vez de longas filas e gôndolas pouco atraentes, havia montanhas de legumes e verduras coloridos para quem pudesse comprar. E em muitas das barracas a venda de artigos legítimos ocultava negócios ilegais ainda mais lucrativos. Dimka entendia por que Natalya queria companhia. Alguns dos homens que faziam aquele tipo de trabalho eram truculentos, e uma mulher tinha motivos para ser cautelosa. Torceu para aquele ser o único motivo. Não queria cair em tentação. Sentia-se próximo de Nina agora que ela estava perto de dar à luz. Fazia alguns meses que os dois não transavam, o que o tornava mais vulnerável aos encantos de Natalya, mas isso não tinha a menor importância comparado à intensa experiência de uma gestação. A última coisa que Dimka queria era um caso com Natalya, mas não podia lhe recusar aquele simples favor.
Seu horário de almoço chegou. Natalya levou Dimka até o mercado em seu Mercedes antigo. Apesar da idade, o carro era veloz e confortável. Como será que ela consegue as peças de reposição?, perguntou-se. No caminho, ela lhe perguntou sobre Nina. – O bebê pode chegar a qualquer momento – disse ele. – Me avise se precisar de alguma coisa para bebês. A irmã de Nik tem um de 3 anos que não precisa mais das mamadeiras e coisas assim. Dimka se espantou. Mamadeiras eram um luxo ainda mais raro do que gravadores. – Obrigado. Aviso, sim. Eles estacionaram e atravessaram o mercado até uma loja que vendia móveis de segunda mão. Era um negócio semilegal. As pessoas podiam vender os próprios objetos, mas ser intermediário era ilegal, o que tornava o comércio engessado e ineficiente. Para Dimka, as dificuldades de impor regras comunistas desse tipo ilustravam a necessidade prática de muitas atividades capitalistas, ou seja, a necessidade de liberalização. Max era um homem pesado de 30 e poucos anos, vestido ao estilo americano: calça jeans e camiseta branca. Sentado diante de uma mesa de cozinha feita de pinho, bebia chá e fumava. Estava cercado por sofás e camas baratos, de segunda mão, em sua maioria velhos e danificados. – O que vocês querem? – perguntou ele em tom brusco. – Falei com o senhor na quarta passada sobre um gravador da Grundig – respondeu Natalya. – O senhor me disse para voltar em uma semana. – Gravadores são difíceis de conseguir – falou ele. – Sem rodeios, Max – interveio Dimka, falando com uma voz tão áspera e cheia de desprezo quanto o outro homem. – Você tem um gravador ou não tem? Homens como Max consideravam sinal de fraqueza dar uma resposta direta a uma pergunta simples. – Vocês vão ter que pagar em dólares americanos. – Eu aceitei o seu preço – argumentou Natalya. – Trouxe a quantia exata. Não mais do que isso. – Me deixe ver o dinheiro. Natalya tirou do bolso do vestido um maço de notas americanas. Max estendeu a mão. Dimka segurou Natalya pelo pulso para impedi-la de entregar o dinheiro antes da hora. – Cadê o gravador? – perguntou. – Josef! – gritou Max por cima do ombro. Houve uma movimentação na sala dos fundos. – O quê? – Gravador. – Certo.
Josef apareceu trazendo uma caixa de papelão sem nada escrito. Mais jovem do que Max, devia ter uns 19 anos, e trazia um cigarro pendurado nos lábios. Apesar de baixo, era musculoso. Pôs a caixa em cima de uma mesa. – É pesada. Vocês estão de carro? – Estamos parados depois da esquina. Natalya contou o dinheiro. – Custou mais do que eu imaginava – disse Max. – Não tenho mais dinheiro nenhum – respondeu Natalya. Max pegou as notas e contou. – Tudo bem – falou, ressentido. – É seu. – Levantando-se, enfiou o maço de notas no bolso da calça. – Josef vai levar a caixa até o seu carro. – Ele entrou na sala dos fundos. Josef segurou a caixa para levantá-la. – Só um instante – falou Dimka. – O que foi? Eu não tenho tempo a perder – disse Josef. – Abra a caixa. Josef o ignorou e levantou a caixa da mesa, mas Dimka apoiou a mão em cima e fez pressão, tornando impossível que ele a levantasse. Josef o encarou com um olhar furioso e, por alguns segundos, Dimka se perguntou se haveria violência. Então Josef recuou e disse: – Abra você essa porcaria. A tampa estava grampeada e presa com fita adesiva. Dimka e Natalya tiveram alguma dificuldade para abri-la. Dentro da caixa havia um gravador de rolo. A marca era Magic Tone. – Isto aqui não é um Grundig – falou Natalya. – Esses gravadores são melhores do que os Grundig – retrucou Josef. – O som é mais agradável. – Eu paguei por um Grundig – reclamou ela. – Este é uma imitação japonesa barata. – Hoje em dia é impossível conseguir um Grundig. – Então quero meu dinheiro de volta. – Não dá, vocês já abriram a caixa. – Antes de abrir a caixa, não sabíamos que vocês estavam tentando nos enganar. – Ninguém enganou ninguém. A senhora queria um gravador. – Ah, que se dane – falou Dimka, e entrou pela porta da sala dos fundos. – Você não pode entrar aí! – exclamou Josef. Dimka o ignorou e entrou. A sala estava cheia de caixas de papelão. Algumas, abertas, continham aparelhos de TV , toca-discos e rádios, todos de marcas estrangeiras. Mas Max não estava ali. Dimka viu uma porta nos fundos. Voltou à sala da frente. – Max fugiu com o seu dinheiro – falou para Natalya. – Ele é um homem ocupado – disse Josef. – Tem muitos clientes.
– Deixe de ser burro, porra! – disparou Dimka. – Max é um ladrão, e você, outro. Josef meteu o dedo bem na cara dele. – Não me chame de burro! – exclamou, em tom de ameaça. – Devolva o dinheiro dela. Antes que comece a ter problemas de verdade. Josef deu uma risada sarcástica. – O que você vai fazer? Chamar a polícia? Eles não podiam fazer isso: estavam envolvidos em uma transação ilegal. E a polícia provavelmente prenderia Dimka e Natalya, mas não Josef e Max, que decerto deviam estar pagando subornos para proteger suas atividades. – Não podemos fazer nada – disse Natalya. – Vamos embora daqui. – Levem seu gravador – falou Josef. – Não, obrigada. Não era isso que eu queria. Ela foi até a porta. – Nós vamos voltar... para buscar o dinheiro – falou Dimka. Josef riu. – E como vão fazer isso? – Você vai ver – respondeu Dimka com voz fraca, e saiu atrás de Natalya. Enquanto ela dirigia para o Kremlin, ele sentiu a frustração ferver dentro de si. – Vou conseguir seu dinheiro de volta – prometeu. – Por favor, não faça isso. Aqueles homens são perigosos. Não quero que você se machuque. Esqueça essa história e pronto. Ele não iria esquecer, mas não disse nada. Quando chegou à sua sala, a pasta da KGB sobre Vasili Yenkov estava em cima da sua mesa. Não era muito grossa. Yenkov era um editor de roteiros que nunca fora suspeito de nada até o dia, em maio de 1961, em que fora preso portando cinco exemplares de uma folha de notícias subversiva chamada Dissidência. Ao ser interrogado, alegou ter recebido uma dúzia de exemplares minutos antes e começado a distribuí-los por causa de um súbito impulso de compaixão pelo cantor de ópera acometido de pneumonia. Uma busca minuciosa de seu apartamento não revelara nada que o contradissesse. Sua máquina de escrever não batia com aquela usada para produzir a publicação. Com terminais elétricos presos aos lábios e às pontas dos dedos, ele dera o nome de outros subversivos, mas, sob tortura, tanto os inocentes quanto os culpados faziam isso. Como sempre, algumas das pessoas nomeadas por ele eram membros irrepreensíveis do Partido Comunista, enquanto outras a KGB não conseguira localizar. De modo geral, a polícia secreta estava inclinada a acreditar que Yenkov não era o editor ilegal do Dissidência. Dimka precisava admirar a coragem de um homem capaz de sustentar uma mentira durante um interrogatório da KGB. Mesmo submetido a torturas atrozes, Yenkov tinha protegido Tanya. Talvez merecesse a liberdade.
Ele conhecia a verdade que Yenkov não tinha revelado: na noite da sua prisão, levara a irmã de moto até seu apartamento, onde ela havia pegado uma máquina de escrever, sem dúvida a mesma usada para produzir o Dissidência. Meia hora depois, Dimka havia jogado a máquina no rio Moscou. Máquinas de escrever não boiavam. Ele e Tanya tinham salvado Yenkov de uma pena ainda maior. Segundo aquela pasta, o editor não estava mais no campo da floresta de alerces derrubando árvores. Alguém descobrira que ele tinha certa capacitação técnica. Como seu primeiro emprego na Rádio Moscou fora como assistente de produção de estúdio, ele entendia de microfones e conexões elétricas. A escassez de técnicos na Sibéria era tão crônica que aquilo lhe bastara para conseguir um trabalho de eletricista em uma usina de energia. Ele decerto tinha ficado contente, no início, por conseguir trabalhar num local coberto, onde não precisava correr o risco de perder um braço ou uma perna em um descuido com o machado. Mas havia um lado ruim: as autoridades relutavam em deixar um técnico competente ir embora da Sibéria. Ao final da sentença, ele havia solicitado pelos trâmites legais um visto de viagem para retornar a Moscou, mas o pedido fora negado. Agora, não tinha alternativa a não ser continuar no emprego. Estava preso lá. Era injusto, mas havia injustiça por toda parte, como Dimka comentara com Tanya. Ele estudou a fotografia que estava na pasta. Yenkov lembrava um astro de cinema: rosto sensual, lábios carnudos, sobrancelhas pretas e fartos cabelos escuros. No entanto, parecia ser mais do que isso. Uma leve expressão de ironia bem-humorada nos cantos dos olhos sugeria que ele não se levava demasiado a sério. Não seria de espantar se, apesar de ter dito que não, Tanya estivesse apaixonada por ele. Fosse como fosse, Dimka tentaria libertá-lo como um favor à irmã. Falaria com Kruschev sobre o caso, mas precisava esperar um momento em que o chefe estivesse de bom humor. Guardou a pasta na gaveta da mesa. Naquela tarde, não teve oportunidade de falar com o premiê. Kruschev foi embora cedo e Dimka estava se preparando para ir para casa quando Natalya espichou a cabeça pelo vão da porta. – Vamos tomar um drinque – sugeriu. – Depois daquela nossa experiência horrível no Mercado Central, eu bem que estou precisando. Dimka hesitou. – Preciso ir para casa ficar com Nina. Ela está quase tendo o bebê. – Só um drinque rápido. – Está bem. – Ele atarraxou a tampa da caneta tinteiro e se dirigiu à sua eficiente secretária de meia-idade: – Podemos ir, Vera. – Ainda tenho umas coisas para fazer – disse ela. Era uma profissional meticulosa. Como era frequentado pela jovem elite do Kremlin, o bar Beira-Rio não tinha um aspecto tão soturno quanto a maioria dos outros estabelecimentos de Moscou. Possuía cadeiras confortáveis, petiscos comestíveis e, para os apparatchiks com os salários melhores e um
gosto por coisas exóticas, tinha também garrafas de uísque escocês e de bourbon atrás do balcão. Nessa noite, o bar estava lotado de conhecidos de Dimka e Natalya, quase todos assessores como eles. Alguém pôs um copo de cerveja na sua mão e ele bebeu, agradecido. O lugar estava animado e ruidoso. Boris Kozlov, assessor de Kruschev como Dimka, contou uma piada arriscada: – Ei, pessoal! O que vai acontecer quando o comunismo chegar à Arábia Saudita? Todos assobiaram e lhe pediram para dizer o quê. – Depois de algum tempo, vai faltar areia! Todos riram. Assim como Dimka, aquelas pessoas trabalhavam duro para o comunismo soviético, mas não eram cegas em relação aos seus defeitos. A distância entre as aspirações do partido e a realidade da URSS incomodava todos eles, e as piadas ajudavam a aliviar a tensão. Dimka terminou a cerveja e alguém lhe deu outra. Natalya ergueu o copo como se fosse fazer um brinde. – A maior esperança para a revolução mundial é uma empresa americana chamada United Fruit – falou. As pessoas à sua volta riram. – Estou falando sério – continuou, embora estivesse sorrindo. – É ela que convence o governo americano a apoiar ditaduras de direita brutais por toda a América Central e do Sul. Se a United Fruit tivesse alguma coisa na cabeça, promoveria um progresso gradual em direção às liberdades burguesas: respeito às leis, liberdade de opinião, sindicatos. Mas, felizmente para o comunismo mundial, eles são burros demais para ver isso. Reprimem de modo implacável os movimentos de reforma, fazendo com que as pessoas não tenham outra opção que não o comunismo, justamente como previu Karl Marx. – Ela brindou com a pessoa mais próxima: – Vida longa à United Fruit! Dimka riu. Além de ser a mais bonita, Natalya era uma das pessoas mais inteligentes do Kremlin. Corada por causa da animação, com a boca larga aberta em um sorriso, ela era irresistível. Dimka não pôde evitar compará-la à mulher exausta, inchada e avessa a sexo que o esperava em casa, embora soubesse que isso era uma injustiça cruel. Natalya foi ao bar pedir uns petiscos. Dimka se deu conta de que fazia mais de uma hora que estava ali. Foi até ela com a intenção de se despedir, mas a cerveja bastou para deixá-lo incauto e, quando ela lhe sorriu calorosamente, ele a beijou. Ela retribuiu o beijo com vontade. Dimka não entendia aquela mulher. Ela passara uma noite com ele; depois gritara dizendo que era casada; depois o convidara para tomar um drinque; e por fim o beijara. O que iria acontecer depois? Mas com aquela boca quentinha sobre a sua e a ponta da língua dela acariciando seus lábios, a última coisa que lhe importava era sua falta de coerência. Natalya interrompeu o abraço e Dimka viu sua secretária em pé bem ao seu lado. Vera ostentava uma expressão severa, julgadora. – Eu estava à sua procura – falou, em tom acusador. – Telefonaram procurando o senhor logo depois que saiu.
– Sinto muito – retrucou Dimka, sem saber muito bem se estava se desculpando por ela ter achado difícil encontrá-lo ou por causa do beijo. Natalya pegou um prato de picles da mão do barman e voltou para junto do grupo. – Sua sogra ligou – continuou Vera. A euforia de Dimka desapareceu na hora. – Sua mulher entrou em trabalho de parto. Está tudo bem, mas o senhor deve ir ficar com ela no hospital. – Obrigado – disse ele, sentindo-se o pior tipo de marido infiel. – Boa noite – falou Vera, e saiu do bar. Dimka a acompanhou até o lado de fora. Passou algum tempo parado, respirando o ar fresco da noite. Então subiu na moto e tomou o caminho do hospital. Que hora para ser pego beijando uma colega. Ele merecia se sentir humilhado: tinha agido mal. Parou a moto no estacionamento do hospital e entrou. Encontrou Nina na ala da maternidade, sentada na cama. Em uma cadeira logo ao lado, Masha segurava um bebê enrolado em um xale branco. – Parabéns – disse-lhe a sogra. – É um menino. – Um menino – repetiu Dimka. Olhou para Nina. Ela lhe abriu um sorriso cansado, mas triunfante. Ele olhou para o filho. O bebê tinha fartos cabelos escuros, que estavam úmidos. Seus olhos eram de um tom de azul que o fez pensar no avô Grigori. Mas todos os bebês tinham olhos azuis, lembrou. Seria sua imaginação, ou aquele bebê já parecia mesmo fitar o mundo com o olhar intenso de seu avô? Masha lhe estendeu o menino. Ele pegou aquela trouxinha como quem segura uma casca de ovo gigante. Na presença daquele milagre, os dramas do dia se dissolveram por completo. Eu tenho um filho, pensou ele, e seus olhos se encheram de lágrimas. – Ele é lindo – falou. – O nome dele vai ser Grigor.
Nessa noite, duas coisas mantiveram Dimka acordado. Uma foi a culpa: enquanto sua mulher dava à luz em meio ao sangue e à dor, ele beijava Natalya. A outra foi a raiva pela maneira como fora enganado e humilhado por Max e Josef. Não fora ele quem tinha sido roubado, e sim Natalya, mas isso em nada diminuía sua indignação e seu ressentimento. Na manhã seguinte, a caminho do trabalho, ele passou de moto no Mercado Central. Ficara metade da noite ensaiando o que diria a Max. “Meu nome é Dmitri Ilich Dvorkin. Vá verificar quem eu sou. Veja para quem eu trabalho. Descubra quem é meu tio e quem foi meu pai. Depois me encontre aqui, amanhã, com o dinheiro de Natalya, e implore para eu não me vingar como você merece.” Pensou se teria coragem de dizer tudo isso, se Max reagiria com assombro ou com desprezo, e se o discurso seria ameaçador o bastante para recuperar os
dólares de Natalya e o seu próprio orgulho. Max não estava sentado à mesa de pinho. Não estava sequer na sala. Dimka não soube se devia ficar desapontado ou aliviado. Encontrou Josef em pé junto à porta da sala dos fundos. Pensou se valeria a pena fazer seu discurso para o rapaz. Ele decerto não tinha poder para reaver o dinheiro, mas talvez falar com ele aliviasse a raiva que estava sentindo. Enquanto hesitava, reparou que Josef tinha perdido a arrogância ameaçadora da véspera. Para seu espanto, antes que conseguisse ao menos abrir a boca, o rapaz recuou para longe dele com ar amedrontado e disse: – Eu sinto muito! Sinto muito! Dimka não soube explicar aquela transformação. Se Josef tivesse descoberto, da noite para o dia, que ele trabalhava no Kremlin e vinha de uma família politicamente poderosa, talvez se mostrasse contrito e conciliatório, e quem sabe até devolvesse o dinheiro, mas não ficaria com cara de quem teme pela própria vida. – Eu só quero o dinheiro de Natalya – falou. – Nós devolvemos! Já devolvemos! Dimka não entendeu. Será que Natalya estivera ali antes dele? – Devolveram para quem? – Para aqueles dois homens. Dimka não conseguiu entender. – E Max, onde está? – perguntou. – No hospital. Eles quebraram os dois braços dele. Isso não basta para você? Dimka refletiu por alguns segundos. A menos que tudo aquilo fosse algum tipo de enigma, parecia que dois homens haviam espancado brutalmente Max e o forçado a lhes devolver o dinheiro de Natalya. Quem poderiam ser? E por que tinham agido assim? Era óbvio que Josef não sabia mais nada. Intrigado, Dimka virou as costas e saiu da loja. Não tinha sido a polícia que fizera aquilo, raciocinou enquanto caminhava de volta até a motocicleta. Nem o Exército, tampouco a KGB. Qualquer alto funcionário teria prendido Max, levado-o e quebrado seus braços com toda a discrição. Ou seja, aquilo fora obra de alguém extraoficial. Extraoficial significava alguma gangue. Ou seja, algum dos amigos ou parentes de Natalya era um bandido perigoso. Não era de espantar que ela nunca tivesse revelado grande coisa sobre sua vida particular. Dimka dirigiu depressa até o Kremlin, mas mesmo assim ficou consternado ao constatar que Kruschev havia chegado antes dele. Porém seu chefe estava de bom humor: ele pôde ouvir sua risada. Talvez fosse a hora de mencionar Vasili Yenkov. Abriu a gaveta de sua mesa e pegou o dossiê da KGB sobre o editor preso. Em seguida pegou uma pasta de documentos para o premiê assinar e hesitou. Seria uma tolice fazer aquilo, mesmo para sua amada irmã. No entanto, reprimiu a ansiedade e entrou no escritório principal. Sentado atrás de uma grande escrivaninha, o primeiro-secretário falava ao telefone. Não
gostava muito de telefones e preferia contatos cara a cara; segundo ele, assim podia perceber quando as pessoas estavam mentindo. Mas aquela conversa estava alegre. Dimka pôs as cartas na frente de Kruschev, que começou a cantar enquanto continuava a falar e rir ao telefone. Quando desligou, perguntou a Dimka: – O que é isso aí na sua mão? Parece um dossiê da KGB. – Vasili Yenkov. Ele foi condenado a dois anos em um campo de prisioneiros por estar portando um panfleto sobre Ustin Bodian, o cantor de ópera dissidente. Já cumpriu a pena, mas eles não o deixam sair de lá. Kruschev parou de assinar e ergueu os olhos. – Algum interesse pessoal da sua parte? Dimka sentiu um calafrio de medo. – Absolutamente nenhum – mentiu, dando um jeito de não deixar transparecer a ansiedade. Se revelasse a relação da irmã com um subversivo condenado, poderia ser o fim de sua carreira e da dela. Kruschev estreitou os olhos. – Então por que deveríamos deixá-lo voltar para casa? Dimka desejou ter recusado o pedido de Tanya. Deveria ter sabido que Kruschev perceberia a verdade: um homem não se tornava líder da URSS sem ser dotado de uma desconfiança que beirava a paranoia. Desesperado, tentou recuar. – Não estou dizendo que devemos trazê-lo para casa – falou, com a maior calma de que foi capaz. – Só pensei que o senhor talvez quisesse saber sobre ele. O crime foi banal, ele já foi punido e, se o senhor concedesse justiça a um dissidente sem importância, estaria sendo condizente com a sua política geral de liberalização cautelosa. Kruschev não se deixou enganar. – Alguém lhe pediu um favor. – Dimka abriu a boca para protestar inocência, mas o premiê ergueu uma das mãos para silenciá-lo. – Não negue, eu não me importo. A influência é a sua recompensa por trabalhar duro. Dimka sentiu como se uma sentença de morte houvesse acabado de ser revogada. – Obrigado – falou, com um tom de gratidão mais patético do que pretendia. – Que trabalho Yenkov está fazendo na Sibéria? Dimka percebeu que sua mão que segurava o dossiê estava tremendo. Pressionou o braço contra a lateral do corpo para fazê-la parar. – Ele é eletricista em uma usina de energia. Não é qualificado, mas antes trabalhava na rádio. – E o que ele fazia em Moscou? – Era editor de roteiros. – Ah, porra, que história é essa? – Kruschev largou a caneta. – Editor de roteiros? Que utilidade tem um editor de roteiros? Eles estão desesperados atrás de eletricistas na Sibéria. Deixe o homem lá. Ele está fazendo algo de útil.
Dimka o encarou, consternado. Não soube o que dizer. Kruschev tornou a pegar a caneta e voltou a assinar os papéis. – Editor de roteiros – resmungou. – Que piada.
Tanya datilografou o conto de Vasili, Enregelamento, com duas cópias em papel carbono. Mas aquilo era bom demais para uma simples publicação samizdat. Vasili evocava de maneira vívida e brutal a realidade dos campos de prisioneiros, mas não era só isso. Ao copiar o texto, ela entendeu, com dor no coração, que aquele campo representava a URSS, que o texto era uma crítica feroz à sociedade soviética. Vasili dizia a verdade de uma forma que Tanya seria incapaz, e ela se sentiu corroída pelo remorso. Todos os dias, escrevia matérias que saíam em jornais e revistas por toda a União Soviética; todos os dias, evitava cuidadosamente a realidade. Não chegava a mentir diretamente, mas sempre se esquivava da pobreza, da injustiça, da repressão e do desperdício que eram as verdadeiras características do seu país. O texto de Vasili lhe mostrava que sua vida era uma fraude. Ela levou a cópia datilografada para seu editor. – Isto aqui chegou pelo correio, sem remetente – falou. Ele poderia muito bem adivinhar que ela estava mentindo, mas não a trairia. – É um conto ambientado em um campo de prisioneiros. – Não podemos publicar – disse Daniil depressa. – Eu sei. Mas o texto é muito bom... obra de um grande escritor, eu acho. – Por que está me mostrando isso? – Você conhece o editor da revista New World. Daniil ficou pensativo. – Ele às vezes publica coisas pouco ortodoxas. Tanya baixou a voz: – Não sei até onde a liberalização de Kruschev pretende ir. – A política tem vacilado, mas a instrução geral é que os excessos do passado devem ser discutidos e condenados. – Você daria uma lida e, se gostar, mostraria para o editor? – Claro. – Daniil leu algumas linhas. – Por que acha que mandaram para você? – Deve ter sido escrito por alguém que conheci na Sibéria quando estive lá há dois anos. – Ah. – Ele assentiu. – É uma explicação. – O que ele quis dizer foi: nada mau como justificativa. – O autor provavelmente vai revelar sua identidade se o texto for aceito para publicação. – Está bem. Vou fazer o possível.
CAPÍTULO VINTE E CINCO
A Universidade do Alabama era a última universidade estadual só para brancos dos Estados Unidos. Na terça-feira, 11 de junho, dois jovens negros chegaram ao campus de Tuscaloosa para se matricular. George Wallace, o baixote governador do estado, postou-se diante das portas da universidade, de braços cruzados e com as pernas bem plantadas, e jurou não deixálos entrar. No Departamento de Justiça, em Washington, George Jakes estava sentado com Bobby Kennedy e outros escutando por telefone os relatos de pessoas na universidade. A televisão estava ligada, mas por enquanto nenhuma rede nacional exibia a cena ao vivo. Menos de um ano antes, duas pessoas tinham sido mortas a tiros em um motim na Universidade do Mississippi após a matrícula do primeiro aluno negro. Os irmãos Kennedy estavam decididos a impedir uma repetição. George estivera em Tuscaloosa e visitara o arborizado campus da universidade. Ao percorrer os gramados verdejantes, tinha deparado com testas franzidas: era o único rosto negro entre as belas garotas de meias soquete e os elegantes rapazes de blazer. Havia feito para Bobby um esboço do grande pórtico do Auditório Foster, com suas três portas, diante do qual Wallace estava agora postado, em frente a um púlpito portátil, cercado por agentes da polícia estadual. A temperatura de junho na cidade se aproximava dos 38oC. George podia visualizar os repórteres e fotógrafos aglomerados diante do governador, suando sob o sol, esperando a violência começar. Aquele confronto vinha sendo antecipado e planejado por ambos os lados havia tempos. George Wallace era um democrata sulista. Abraham Lincoln, que libertara os escravos, era republicano, enquanto os sulistas pró-escravatura eram democratas. Esses mesmos sulistas continuavam no partido, ajudando a eleger presidentes democratas e depois prejudicando seu mandato. Wallace era um homem pequeno, feio e careca, a não ser por um tufo de cabelos na frente da cabeça que besuntava de brilhantina e penteava para transformar em um ridículo topete. No entanto, ele era astuto, e George não conseguia entender o que pretendia naquele dia. Que resultado Wallace esperava? O caos ou algo mais sutil? O movimento em defesa dos direitos civis, que dois meses antes parecia agonizante, ganhara fôlego depois dos motins de Birmingham. O dinheiro fluía aos borbotões: durante um evento beneficente em Hollywood, estrelas de cinema como Paul Newman e Tony Franciosa tinham assinado cheques de mil dólares cada um. Apavorada com a ideia de mais desordem, a Casa Branca estava desesperada para apaziguar os manifestantes. Bobby Kennedy enfim havia se rendido à opinião de que uma nova Lei de Direitos Civis era necessária. Agora admitia que estava na hora de o Congresso banir a discriminação em
todos os espaços públicos – hotéis, restaurantes, ônibus, sanitários – e proteger o direito dos negros ao voto. Só que ainda não conseguira convencer seu irmão presidente. Nessa manhã, o secretário de Justiça tentava dar a impressão de estar calmo e no controle da situação. Uma equipe de TV o filmava, e três de seus sete filhos corriam pela sala. Mas George sabia com que rapidez a descontraída afabilidade de Bobby podia se transformar em fúria gelada quando as coisas davam errado. Bobby estava decidido a impedir novos motins, mas estava igualmente decidido a conseguir que os dois alunos se matriculassem. Um juiz emitira um mandado a favor da matrícula, e Bobby, como secretário de Justiça, não podia se deixar derrotar por um governador estadual determinado a desconsiderar a lei. Estava pronto para mandar o Exército tirar Wallace à força da frente do auditório, embora isso também fosse ser um final infeliz, com Washington intimidando o Sul. Em mangas de camisa, curvado sobre o aparelho de telefone em sua espaçosa mesa, Bobby exibia marcas de suor debaixo dos braços. O Exército tinha montado um sistema de comunicação móvel, e alguém no meio da multidão ia relatando ao secretário o que estava acontecendo. – Nick chegou – disse a voz que saiu do aparelho. Nicholas Katzenbach era o subsecretário de Justiça e estava no Alabama representando Bobby. – Ele está indo falar com Wallace... está entregando a ele a ordem para sair. – Katzenbach estava munido de uma ordem presidencial que mandava Wallace parar de desafiar um mandado judicial. – Agora Wallace está fazendo um discurso. O braço esquerdo de George Jakes estava sustentado por uma discreta tipoia de seda preta. A polícia estadual do Alabama tinha rachado um osso de seu pulso em Birmingham. Dois anos antes, um arruaceiro racista tinha quebrado aquele mesmo braço em Anniston, também no Alabama. George esperava nunca mais ter de voltar a esse estado. – Wallace não está falando em segregação – disse a voz no aparelho. – Está falando sobre direitos do estado. Diz que Washington não tem o direito de interferir nas instituições de ensino do Alabama. Vou tentar me aproximar para o senhor poder escutá-lo. George franziu a testa. Em seu discurso de posse como governador, Wallace tinha dito: “Segregação agora, amanhã e para sempre.” Na ocasião, porém, estava falando com a população branca do Alabama. Quem estaria tentando impressionar agora? Algo estava acontecendo ali que os irmãos Kennedy e seus conselheiros ainda não tinham entendido. O discurso de Wallace foi longo. Quando ele enfim terminou de falar, Katzenbach exigiu novamente que o governador obedecesse à lei, e Wallace recusou. Impasse. O subsecretário então saiu do local, mas o drama não havia acabado. Os dois alunos, Vivian Malone e James Hood, aguardavam dentro de um carro. Ficara combinado que Katzenbach acompanharia Vivian até seu alojamento, enquanto outro advogado do Departamento de Justiça faria o mesmo com James. Mas isso era apenas temporário. Para se matricular oficialmente, eles tinham de entrar no Auditório Foster.
O noticiário do meio-dia começou na TV , e na sala de Bobby Kennedy alguém aumentou o volume. Em pé diante do púlpito, Wallace parecia mais alto do que era de fato. Não disse nada sobre pessoas de cor, segregação ou direitos civis. Falou, isso sim, no poder do governo central que estava oprimindo a soberania do estado do Alabama. Indignado, discorreu sobre liberdade e democracia, como se não houvesse nenhum negro a quem o direito de voto estivesse sendo negado. Citou a Constituição como se não a desdenhasse diariamente. Foi um espetáculo de grande virtuosismo, que deixou George preocupado. Burke Marshall, o advogado branco que chefiava a divisão de direitos civis, estava na sala de Bobby. George ainda não confiava nele, mas Marshall havia se tornado mais radical depois de Birmingham, e nesse dia sugeriu pôr fim ao impasse de Tuscaloosa mandando o Exército. – Por que não fazemos logo isso? – perguntou ao secretário. Bobby concordou. Levou tempo. Os assessores do secretário pediram sanduíches e café. No campus, todos mantiveram suas posições. A TV começou a transmitir notícias do Vietnã. Em um cruzamento de Saigon, um monge budista chamado Thic Quang Duc, encharcado com 20 litros de gasolina, tinha calmamente acendido um fósforo e tocado fogo em si mesmo. O suicídio era um protesto contra a perseguição da maioria budista pelo presidente Ngo Dinh Diem, um católico apoiado pelos americanos. O trabalho do presidente Kennedy não acabava nunca. Por fim, alguém disse no viva-voz do presidente: – O general Graham chegou... com quatro soldados. – Quatro? – estranhou George. – É essa a nossa demonstração de força? Eles ouviram uma nova voz, provavelmente do general, falar com Wallace: – Governador, é meu triste dever pedir ao senhor que saia da frente. Ordens do presidente dos Estados Unidos. Graham era comandante da Guarda Nacional do Alabama, e claramente cumpria ordens que iam contra as próprias inclinações. Mas a voz no aparelho então disse: – Wallace está se afastando... Wallace está indo embora! Ele está indo embora! Acabou! Houve vivas e apertos de mão no escritório. Dali a um minuto, os outros repararam que George não estava comemorando. – O que houve com você? – quis saber Dennis Wilson. Na opinião de George, as pessoas ao seu redor não estavam raciocinando direito. – Wallace planejou isso – falou. – Desde o início ele pretendia ceder assim que chamássemos o Exército. – Mas por quê? – É essa a pergunta que está me incomodando. Passei a manhã inteira com a impressão de que estamos sendo usados.
– Mas o que Wallace ganhou com essa farsa? – Exposição. Ele acabou de aparecer na TV , posando como o homem comum que enfrenta um governo truculento. – O governador Wallace vai reclamar de ter sido alvo de truculência? – falou Wilson. – Que piada! Bobby, que vinha acompanhando o debate, interveio: – Escutem George. Ele está fazendo as perguntas certas. – Piada para você e para mim – disse George. – Mas muitos americanos da classe trabalhadora sentem que a integração está sendo empurrada pela sua goela abaixo por gente bem-intencionada de Washington como todos nós aqui nesta sala. – Eu sei – disse Wilson. – Embora seja pouco usual ouvir isso de... – Ele estava prestes a dizer “de um negro”, mas mudou de ideia. – ... de alguém que faz campanha pelos direitos civis. Aonde você quer chegar? – O que Wallace fez hoje foi falar para esses eleitores brancos da classe trabalhadora. Eles vão se lembrar dele ali em pé, desafiando Nick Katzenbach, que todos dirão ser um típico liberal da Costa Leste, e vão se lembrar dos soldados que o obrigaram a se retirar. – Wallace é governador do Alabama. Por que ele precisaria falar para a nação? – Desconfio que ele vá desafiar Jack Kennedy nas primárias democratas do ano que vem. Esse cara vai se candidatar à Presidência, gente. E a campanha dele começou hoje, em rede nacional de televisão... com a nossa ajuda. Alguns segundos de silêncio recaíram sobre a sala enquanto os presentes digeriam esse fato. George pôde ver que estavam todos convencidos pela sua argumentação e preocupados com o que aquilo acarretava. – No presente momento, Wallace é a notícia mais importante, e ele parece um herói – concluiu George. – Talvez o presidente precise tomar a iniciativa de novo. Bobby apertou um botão do interfone sobre sua mesa e pediu: – Me ligue com o presidente. Acendeu um charuto. Dennis Wilson atendeu um telefonema em outro aparelho. – Os dois alunos entraram no auditório e se matricularam – falou. Pouco depois, Bobby pegou o telefone para falar com o irmão. Disse que eles tinham conseguido uma vitória sem violência. Então começou a escutar. – É! – falou, em determinado momento. – George Jakes disse a mesma coisa... – Houve outra pausa demorada. – Hoje à noite? Mas nós não temos discurso... É claro que podemos escrever um. Não, acho que você tomou a decisão certa. Vamos em frente. – Desligou e correu os olhos pela sala. – O presidente vai apresentar uma nova Lei de Direitos Civis. George sentiu o coração dar um pinote. Era o que ele, Martin Luther King e todos os outros integrantes do movimento estavam pedindo. – E vai fazer o anúncio ao vivo na televisão... hoje à noite – completou Bobby.
– Hoje? – estranhou George. – Daqui a algumas horas. Fazia sentido, pensou George, ainda que fosse meio apressado. Assim o presidente voltaria a ser a notícia mais importante, exatamente como deveria ser – mais do que George Wallace e mais do que Thich Quang Duc. – E ele quer que você vá lá ajudar Ted a escrever o discurso – completou Bobby. – Pois não, secretário. George saiu do Departamento de Justiça muito animado. Caminhou tão depressa que chegou ofegante à Casa Branca, e se demorou um minuto no térreo da Ala Oeste para recuperar o fôlego antes de subir. Encontrou Ted Sorensen em sua sala com um grupo de colegas. Tirou o paletó e sentou-se. Entre os papéis espalhados sobre a mesa havia um telegrama de Martin Luther King para o presidente. Em Danville, Virgínia, quando 65 negros haviam protestado contra a segregação, 48 deles tinham apanhado tanto da polícia que foram parar no hospital. “A resistência dos negros talvez esteja chegando ao fim”, dizia a mensagem de King. George sublinhou essa frase. O grupo trabalhou com afinco na redação do discurso. O texto começaria fazendo referência aos acontecimentos daquele dia no Alabama, e destacaria que os soldados estavam fazendo cumprir um mandado judicial. Mas o presidente não se demoraria nos detalhes dessa rixa específica, e passaria rapidamente para um forte apelo aos valores morais de todos os americanos decentes. De tempos em tempos, Sorensen levava páginas manuscritas para a secretária datilografar. George estava frustrado pelo fato de algo tão importante estar sendo feito às pressas, na última hora, mas entendia o motivo. A redação de uma lei era um processo racional; a política, por sua vez, era um jogo intuitivo. Jack Kennedy tinha um instinto aguçado, e seu sexto sentido lhe dizia que precisava tomar a iniciativa naquele dia. O tempo passou depressa demais. O discurso ainda estava sendo escrito quando as equipes de TV entraram no Salão Oval e começaram a instalar seus equipamentos de iluminação. O presidente andou pelo corredor até a sala de Sorensen para perguntar a quantas andava o discurso. Sorensen lhe mostrou algumas páginas, e Kennedy não gostou. Os dois foram para a sala das secretárias, e o presidente começou a ditar as mudanças para que fossem datilografadas. Quando deu oito horas, o discurso ainda não estava terminado, mas Kennedy entrou em cadeia nacional mesmo assim. George assistiu ao pronunciamento na sala de Sorensen, roendo as unhas. E Kennedy se saiu melhor do que nunca. Começou com uma formalidade um tanto excessiva, mas pegou ritmo ao falar sobre as perspectivas de vida de um bebê negro: metade das chances de completar o ensino médio, um terço das chances de se formar no ensino superior, duas vezes mais chances de ficar desempregado, e uma expectativa de vida sete anos menor do que a de um bebê branco.
– Acima de tudo, trata-se de uma questão moral – disse ele. – Uma questão mais antiga do que as Escrituras e tão clara quanto a Constituição dos Estados Unidos. George ficou maravilhado. Grande parte daquele discurso era improvisada e mostrava um novo Jack Kennedy. O presidente elegante e moderno tinha descoberto o poder de falar como um profeta. Talvez tivesse aprendido com o reverendo Martin Luther King. – Quem de nós aceitaria trocar a cor da própria pele? – indagou, tornando a usar palavras curtas, simples. – Quem de nós aceitaria as recomendações de paciência e espera? Quem havia aconselhado paciência e espera tinham sido justamente Jack Kennedy e seu irmão Bobby, pensou George. Alegrou-se ao constatar que eles agora tinham percebido a dolorosa inadequação desse conselho. – Nós pregamos a paz mundo afora – prosseguiu Kennedy. George sabia que ele estava prestes a viajar para a Europa. – Mas será que poderemos dizer ao mundo, e sobretudo uns aos outros, que esta é a terra dos livres, exceto para os negros? Que não temos cidadãos de segunda classe, exceto os negros? Que não temos sistema de classes ou de castas, nem guetos, nem raça superior, exceto em relação aos negros? George exultava. Eram palavras fortes, sobretudo a referência à raça superior, que lembrava os nazistas. Aquele era o tipo de discurso que ele sempre quisera que o presidente fizesse. – A fogueira da frustração está ardendo em todas as cidades, de norte a sul, onde os recursos legais não estão disponíveis – continuou Kennedy. – Na semana que vem, pedirei ao Congresso dos Estados Unidos para agir, para assumir um compromisso que ainda não assumiu totalmente neste século, com o conceito de que... – Ele havia tornado a ficar formal, mas então voltou a usar uma linguagem simples: – ... a raça não tem lugar nem na vida nem na lei americanas. Aquilo era uma frase para os jornais, pensou George na mesma hora: a raça não tem lugar nem na vida nem na lei americanas. Mal conseguiu conter a empolgação. Seu país estava mudando, ali mesmo, a cada minuto, e ele fazia parte dessa transformação. – Aqueles que não fizerem nada estarão instigando, além da violência, a vergonha – prosseguiu o presidente, e George pensou que ele estava sendo sincero, embora não fazer nada tivesse sido a sua política até poucas horas antes. – Peço o apoio de todos os nossos cidadãos – concluiu Kennedy. A transmissão terminou. No corredor, os equipamentos de iluminação da TV foram desligados e a equipe começou a guardar tudo. Sorensen parabenizou o presidente. Apesar da euforia, George estava exausto. Foi para seu apartamento, comeu ovos mexidos e assistiu ao noticiário. Como esperava, o pronunciamento do presidente era a notícia principal. Então foi para a cama e adormeceu. Acordou com o telefone. Era Verena Marquand. Aos prantos, ela quase não conseguia falar. – O que houve? – perguntou-lhe George.
– Medgar – respondeu ela, e então disse algo que ele não conseguiu entender. – Medgar Evers, você quer dizer? George o conhecia: era um ativista negro de Jackson, Mississippi, funcionário em tempo integral da NAACP, o mais moderado dos grupos defensores dos direitos civis. Fora ele quem havia investigado o assassinato de Emmett Till e organizado um boicote às lojas de brancos. Seu trabalho o transformara em uma figura nacional. – Ele levou um tiro. – Verena soluçava. – Bem na frente de casa! – Ele morreu? – Morreu. George, ele tinha três filhos... três! As crianças ouviram o tiro, saíram e encontraram o pai se esvaindo em sangue na entrada da garagem. – Jesus... – O que é que esses brancos têm na cabeça? Por que eles fazem isso com a gente, George? Por quê? – Não sei, princesa. Não sei mesmo.
Pela segunda vez, Bobby Kennedy mandou George para Atlanta com um recado para Martin Luther King. Ao ligar para Verena e marcar o encontro, ele falou: – Adoraria conhecer seu apartamento. Não conseguia entendê-la. Naquela noite, em Birmingham, eles tinham ido para a cama e sobrevivido a uma bomba racista, e ele se sentira muito próximo dela. Mas dias, depois semanas, haviam se passado sem que surgisse outra oportunidade para o sexo, e a intimidade entre os dois tinha evaporado. Apesar disso, quando ficou abalada com a notícia da morte de Medgar Evers, Verena não telefonara para Martin Luther King nem para o pai, mas para George. Agora ele não sabia qual era a natureza de seu relacionamento. – Claro – disse ela. – Por que não? – Vou levar uma garrafa de vodca. Tinha descoberto que vodca era a bebida alcoólica preferida dela. – Eu divido o apartamento com outra moça. – Levo duas garrafas, então? Ela riu. – Calma, garotão. Laura não vai se importar em sair à noite. Já fiz a mesma coisa por ela muitas vezes. – Isso quer dizer que você vai fazer o jantar? – Não sou grande coisa na cozinha. – Que tal você fritar uns bifes e eu fazer uma salada? – Você gosta de coisa fina.
– Por isso eu gosto de você. – Que lábia! Ele pegou o avião para lá no dia seguinte. Esperava passar a noite com Verena, mas não queria fazê-la sentir que dava isso por certo, portanto fez o check-in em um hotel e foi de táxi até seu apartamento. Seduzi-la não era o único assunto que ocupava sua mente. Da última vez que levara um recado de Bobby para King, sua opinião sobre o teor da mensagem era ambivalente. Dessa vez, quem tinha razão era Bobby, e George estava decidido a fazer o reverendo mudar de ideia. Assim, tentaria primeiro convencer Verena. Fazia calor em Atlanta em junho, e ela o recebeu usando um vestido curto sem mangas, que deixava à mostra seus longos braços levemente bronzeados. Estava descalça, o que o fez se perguntar se estaria usando alguma coisa por baixo do vestido. Cumprimentou-o com um beijo na boca, mas tão rápido que ele não soube bem o que significava. O apartamento era moderno, classudo, mobiliado com peças contemporâneas. Não poderia pagar aquilo com o salário que recebia de King, calculou George. Deviam ser os royalties dos discos de Percy Marquand que bancavam o aluguel. Ele pôs a vodca sobre a bancada da cozinha, e ela lhe passou uma garrafa de vermute e uma coqueteleira. Antes de preparar os drinques, ele falou: – Quero ter certeza de que você entende o seguinte: o presidente está na situação mais difícil de toda sua carreira política. O que está acontecendo agora é muito mais grave do que a Baía dos Porcos. Como era sua intenção, conseguiu deixá-la chocada. – Me explique por quê – pediu ela. – Por causa da Lei de Direitos Civis. Na manhã seguinte ao seu pronunciamento na TV , ou seja, na manhã depois de você me ligar para dizer que Medgar tinha sido assassinado, o líder da maioria na Câmara ligou para ele. Disse que seria impossível aprovar o projeto de lei agrícola, os financiamentos para transportes de massa, as ajudas a países estrangeiros e o orçamento espacial. O programa legislativo de Kennedy saiu completamente dos trilhos. Justamente como temíamos, os democratas sulistas estão se vingando. E a aprovação do presidente nas pesquisas caiu dez pontos da noite para o dia. – Mas a imagem internacional dele melhorou – assinalou Verena. – Talvez vocês tenham de segurar as pontas até a situação doméstica melhorar. – Estamos segurando, acredite. Lyndon Johnson está mostrando a que veio. – Johnson? Está brincando? – Não estou, não. – George era amigo de Skip Dickerson, um dos assessores do vicepresidente. – Sabia que a cidade de Houston desligou a energia nas docas para protestar contra a nova política de integração da Marinha durante as licenças em terra? – Sabia. Filhos da mãe. – Quem resolveu a questão foi Johnson.
– Como? – A NASA está planejando construir em Houston uma estação de rastreamento no valor de milhões de dólares. Ele ameaçou cancelar o projeto. Segundos depois, a cidade religou a energia. Nunca subestime Lyndon Johnson. – Quem dera tivéssemos mais atitudes como essa no governo! – É verdade. Mas os irmãos Kennedy eram muito detalhistas. Não queriam sujar as mãos. Preferiam ganhar a discussão pelo raciocínio. Consequentemente, não usavam muito Johnson; na verdade, desprezavam-no por causa do seu talento para a manipulação. George encheu a coqueteleira de gelo, despejou um pouco de vodca por cima e sacudiu. Verena abriu a geladeira e pegou dois copos de martíni. George serviu uma colherada de vermute em cada copo gelado, girou os copos para untar as laterais, em seguida despejou a vodca gelada. Verena completou cada drinque com uma azeitona. George gostou da sensação de fazerem algo juntos. – A gente forma uma boa equipe, não acha? – perguntou. Verena ergueu o copo e bebeu. – Você faz um bom martíni. Ele sorriu, meio decepcionado. Esperava uma resposta diferente, algo que afirmasse o seu relacionamento. Bebeu e disse: – É, faço mesmo. Verena tirou da geladeira alface, tomate e dois bifes de contra-filé. George começou a lavar a alface. Enquanto isso, direcionou a conversa para o verdadeiro objetivo da sua visita: – Eu sei que já conversamos sobre isso antes, mas o fato de o Dr. King se relacionar com comunistas não ajuda a Casa Branca. – E quem disse que ele se relaciona? – O FBI. Verena deu um muxoxo de desprezo. – Sei, aquela famosa e confiável fonte de informação sobre o movimento dos direitos civis... Pare com isso, George. Você sabe muito bem que, para J. Edgar Hoover, qualquer um que discorde dele é comunista, inclusive Bobby Kennedy. Cadê as provas? – Parece que o FBI tem provas. – Parece? Ou seja, você não viu. Bobby viu? George ficou envergonhado. – Hoover disse que a fonte é segura. – Hoover se recusou a mostrar as provas para o secretário de Justiça? Para quem ele acha que trabalha? – Pensativa, ela tomou um gole de martíni. – O presidente viu as provas? George não respondeu. Verena ficou ainda mais incrédula. – Hoover não pode dizer não ao presidente.
– Acho que o presidente decidiu evitar um confronto nessa questão. – Vocês são ingênuos, por acaso? George, escute o que eu vou dizer: não existem provas. Ele decidiu dar o braço a torcer. – Você provavelmente tem razão. Eu não acredito que Jack O’Dell e Stanley Levison sejam comunistas, embora sem dúvida já tenham sido um dia; mas será que você não vê que a verdade não importa? Há base para suspeita, e isso basta para prejudicar a credibilidade do movimento pelos direitos civis. E agora que o presidente propôs uma nova lei, ele também sai prejudicado. – George envolveu a alface lavada com um pano de prato e sacudiu os braços para secar as folhas. A irritação tornou seus gestos mais enérgicos do que o necessário. – Jack Kennedy pôs a carreira política em risco por causa dos direitos civis, e não podemos deixá-lo ser derrubado por causa de acusações de relacionamentos com comunistas. – Ele pôs a alface dentro de uma saladeira. – Livrem-se desses dois caras e pronto, problema resolvido! Verena falou em tom paciente: – O’Dell é funcionário da organização de Martin Luther King, assim como eu, mas Levison não está nem na folha de pagamento. É só um amigo e conselheiro de Martin. Você quer mesmo dar a J. Edgar Hoover o poder de escolher os amigos de Martin? – Verena, eles estão no caminho da proposta de Lei de Direitos Civis. Peça ao Dr. King para se livrar deles... por favor. Verena suspirou. – Acho que ele vai fazer isso. Sua consciência cristã está demorando um pouco para se acostumar com a ideia de rejeitar dois aliados de longa data, mas no final ele vai ceder. – O Senhor seja louvado. George ficou mais animado: pelo menos dessa vez poderia voltar a Bobby com boas notícias. Verena salgou os bifes e os pôs na frigideira. – E agora vou lhe dizer uma coisa: não vai fazer a menor diferença. Hoover vai continuar a vazar para a imprensa que o movimento pelos direitos civis é um disfarce para os comunistas. Ele faria isso mesmo que fôssemos republicanos desde criancinhas. J. Edgar Hoover é um mentiroso patológico que odeia os negros, e é uma pena que o seu chefe não tenha colhão para mandá-lo embora. George quis protestar, mas infelizmente a acusação era verdadeira. Ele fatiou um tomate para pôr na salada. – Você gosta do bife bem passado? – perguntou Verena. – Não muito. – Prefere mal? Eu também. Ele preparou mais dois martínis e eles se sentaram diante da pequena mesa para comer. George passou para a segunda parte do recado: – Ajudaria o presidente se o Dr. King cancelasse aquela maldita manifestação em Washington.
– Sem chance. King havia convocado um “imenso, militante e monumental protesto sentado” na capital, que ocorreria ao mesmo tempo que vários outros atos de desobediência civil país afora. Os irmãos Kennedy estavam consternados. – Pense no seguinte – disse George. – No Congresso, existem aqueles que sempre vão votar a favor dos direitos civis e aqueles que jamais farão isso. Quem importa são os que podem votar de um jeito ou de outro. – Os votos incertos – falou Verena, usando uma expressão em voga. – Exato. Eles sabem que a lei é moralmente correta, mas politicamente impopular, e estão atrás de desculpas para votar contra ela. A sua manifestação vai lhes dar a chance de dizer: “Eu sou a favor dos direitos civis, mas não sob a mira de uma arma.” Não é hora para isso. – Como diz Martin, para os brancos nunca é hora. George sorriu. – Você é mais branca do que eu. Ela deu uma viradinha na cabeça e arrematou: – E mais bonita. – É verdade. Você é praticamente a coisa mais bonita que já vi. – Obrigada. Coma. George empunhou garfo e faca. Os dois jantaram quase em silêncio. Ele elogiou Verena pelos bifes, e ela disse que, para um homem, ele sabia fazer uma boa salada. Quando terminaram, levaram os drinques para a sala, sentaram-se no sofá e George retomou sua argumentação: – Será que você não entende que agora é diferente? O governo está do nosso lado. O presidente está dando o melhor de si para aprovar a lei que estamos pedindo há anos. Ela balançou a cabeça. – Se nós aprendemos algo, é que as coisas mudam mais depressa quando mantemos a pressão. Você sabia que nos restaurantes de Birmingham os negros agora estão sendo servidos por garçonetes brancas? – Sabia, sim. Que reviravolta incrível. – E isso não foi conquistado com uma espera paciente. Isso aconteceu porque eles jogaram pedras e acenderam fogueiras. – A situação mudou. – Martin não vai cancelar o protesto. – Mas ele o modificaria? – Como assim? Esse era o plano B de George. – Será que a manifestação poderia ser uma simples passeata dentro da lei, em vez de um protesto? Os membros do Congresso talvez se sintam menos ameaçados. – Não sei. Pode ser que Martin considere essa possibilidade.
– Façam numa quarta-feira, para que as pessoas não queiram passar o fim de semana inteiro na cidade, e deixem o encerramento bem claro para os manifestantes irem embora bem antes de a noite cair. – Você está tentando diminuir o efeito da manifestação. – Se precisamos protestar, devemos fazer todo o possível para garantir que tudo corra sem violência e cause boa impressão, especialmente na TV. – Nesse caso, que tal colocar banheiros portáteis no trajeto da passeata? Bobby deve conseguir isso, mesmo que não consiga demitir Hoover. – Ótima ideia. – E que tal reunir alguns defensores brancos da causa? O protesto vai sair melhor na TV se houver manifestantes brancos entre os negros. George pensou um pouco. – Aposto que Bobby conseguiria fazer os sindicatos mandarem gente. – Se você conseguir prometer essas duas coisas como atrativos, acho que temos uma chance de fazer Martin mudar de ideia. George viu que Verena havia concordado com ele e estava agora falando em como convencer King. Já era meio caminho andado. – E, se você conseguir convencer o Dr. King a transformar o protesto em um desfile, acho que talvez consigamos o apoio do presidente. Ele estava esticando um pouco a corda, mas era possível. – Vou me esforçar ao máximo – disse ela. George passou o braço em volta dela. – Está vendo, nós somos uma boa equipe. – Ela sorriu e não disse nada. – Você não concorda? – insistiu ele. Verena o beijou. Foi igual ao seu último beijo: mais do que amigável sem chegar a ser sensual. – Depois que aquela bomba estourou a janela do meu quarto de hotel, você atravessou o quarto descalço para pegar meus sapatos – disse ela, em tom de reflexão. – Eu lembro – retrucou ele. – O chão estava coberto de cacos. – Foi por isso. Foi esse o seu erro. George franziu a testa. – Não estou entendendo. Achei que estivesse sendo gentil. – Exatamente. Você é bom demais para mim, George. – Como assim? Que maluquice! Mas ela estava séria. – Já fui para a cama com vários homens, George. Eu bebo. Sou infiel. Já transei com Martin uma vez. Ele arqueou a sobrancelha, mas não disse nada. – Você merece coisa melhor – continuou Verena. – Vai ter uma carreira maravilhosa.
Talvez seja o primeiro presidente negro. Precisa de uma esposa que seja fiel e trabalhe ao seu lado, que o apoie e fortaleça. Eu não sou essa mulher. George estava confuso. – Eu não estava olhando tão para o futuro. Só estava torcendo para conseguir beijá-la mais um pouco. Ela sorriu. – Isso eu posso fazer – falou. Ele a beijou lenta e demoradamente. Depois de algum tempo, acariciou a lateral de sua coxa e foi subindo por baixo da saia do vestido curto. Chegou com a mão até o quadril. Tinha razão: nada por baixo. Ela entendeu o que ele estava pensando. – Viu só? Menina malvada. – Eu sei. Sou louco por você mesmo assim.
CAPÍTULO VINTE E SEIS
Fora difícil para Walli ir embora de Berlim. Era a cidade onde Karolin morava e ele queria ficar perto dela. Só que isso não fazia sentido se os dois estivessem separados pelo Muro. Embora estivessem a menos de dois quilômetros de distância, ele nunca poderia vê-la. Não podia arriscar uma nova travessia da fronteira: da última vez, só não tinha morrido por pura sorte. Mesmo assim, achara difícil se mudar para Hamburgo. Dizia a si mesmo que entendia por que Karolin decidira ficar com a família para ter o bebê. Quem estava mais preparado para ajudá-la quando ela desse à luz, sua mãe ou um guitarrista de 17 anos? Mas a lógica daquela decisão era um parco consolo. Ele pensava nela à noite quando ia se deitar e assim que acordava pela manhã. Quando via uma garota bonita na rua, tudo o que conseguia sentir era tristeza por causa de Karolin. Ficava pensando em como ela estaria. Será que a gravidez estava lhe causando desconforto e enjoo ou será que ela estava esplendorosa? Será que os pais estavam bravos com ela ou animados com a ideia de ser avós? Eles trocavam cartas, e ambos sempre escreviam “eu te amo”. No entanto, hesitavam em esmiuçar as próprias emoções, pois sabiam que cada palavra seria examinada em detalhes por algum agente da polícia secreta no escritório da censura, talvez alguém que os dois conhecessem, como Hans Hoffmann. Era como declarar os sentimentos na frente de uma plateia desdenhosa. Eles estavam de lados opostos do Muro, e era como se estivessem a 2 mil quilômetros um do outro. Assim, Walli se mudara para o espaçoso apartamento da irmã em Hamburgo. Rebecca nunca o pressionava. Nas cartas que lhe escreviam, seus pais viviam lhe dizendo para voltar à escola, ou quem sabe começar um curso superior. Suas sugestões idiotas incluíam estudar para virar eletricista, advogado ou professor, como Rebecca e Bernd. A própria Rebecca, no entanto, nada dizia. Se ele passasse o dia inteiro no quarto tocando guitarra, ela não reclamava, só lhe pedia para lavar a xícara de café em vez de largá-la suja dentro da pia. Quando falava com ela sobre o futuro, a irmã perguntava: “Por que a pressa? Você tem 17 anos. Faça o que quiser e veja o que acontece.” Bernd se mostrava igualmente tolerante. Walli adorava Rebecca, e a cada dia que passava gostava mais de Bernd. Ainda não havia se acostumado com a Alemanha Ocidental. As pessoas lá tinham carros maiores, roupas mais novas e casas mais bonitas. O governo era criticado abertamente nos jornais e até na TV . Sempre que lia algum texto que atacava o envelhecido chanceler Adenauer, Walli se pegava olhando por cima do ombro, culpado, com medo de alguém flagrálo lendo material subversivo, e precisava lembrar a si mesmo que aquilo era o Ocidente, onde havia liberdade de opinião.
Apesar da tristeza de sair de Berlim, descobriu, para sua alegria, que Hamburgo era o centro da cena musical alemã. A cidade portuária recebia marinheiros do mundo inteiro. Uma rua chamada Reeperbahn era o centro do bairro da luz vermelha, cheia de bares, casas de strip-tease, clubes homossexuais meio secretos e muitos estabelecimentos de música ao vivo. Walli tinha dois desejos na vida: viver com Karolin e ser músico profissional. Um dia, pouco depois de se mudar para a cidade, percorreu a Reeperbahn com a guitarra pendurada no ombro e entrou em todos os bares para perguntar se eles precisavam de um cantor-guitarrista para divertir a clientela. Considerava-se um bom músico. Sabia cantar, tocar e agradar à plateia. Só precisava que alguém lhe desse uma chance. Depois de uns dez nãos, deu sorte em uma cervejaria chamada El Paso, que ficava em um porão. A decoração obviamente pretendia passar por americana: acima da porta pendia a cabeça de um boi da raça longhorn e as paredes exibiam cartazes de filmes de faroeste. O dono do lugar usava botas Stetson, mas chamava-se Dieter e falava alemão com sotaque do norte. – Você sabe tocar música americana? – perguntou ele. – Pode apostar – respondeu Walli, em inglês. – Se voltar às sete e meia eu faço um teste com você. – E quanto o senhor me pagaria? Embora ainda recebesse mesada de Enok Andersen, contador da fábrica de seu pai, Walli estava desesperado para provar que podia ser financeiramente independente e assim justificar sua recusa em seguir os conselhos de carreira dos pais. Mas Dieter fez uma cara levemente ofendida, como se ele tivesse dito algo mal-educado. – Toque por cerca de meia hora – falou, vago. – Se eu gostar de você, aí podemos falar em dinheiro. Apesar de inexperiente, Walli não era burro, e teve certeza de que aquela resposta evasiva significava que o dinheiro seria pouco. No entanto, como era a única proposta que tinha recebido em duas horas, aceitou. Foi para casa e passou a tarde montando uma apresentação de meia hora de músicas americanas. Decidiu começar com “If I Had a Hammer”, pois o público do Hotel Europa tinha gostado. Depois tocaria “This Land Is Your Land” e “Mess of Blues”. Embora não precisasse muito, ensaiou várias vezes todas as músicas escolhidas. Quando Rebecca e Bernd chegaram em casa depois do trabalho e ficaram sabendo da novidade, Rebecca disse que iria com ele. – Nunca vi você tocar para uma plateia. Só o vi brincando com o instrumento em casa sem nunca terminar a música que começava. Sua proposta de ir vê-lo tocar era muito simpática, sobretudo nessa noite em que ela e Bernd estavam muito animados com outra coisa: a visita de Kennedy à Alemanha. Para os pais de Walli e Rebecca, somente a firmeza americana havia impedido a União Soviética de ocupar Berlim Ocidental e incorporá-la à Alemanha Oriental. Para eles, Kennedy
era um herói. Walli, por sua vez, gostava de qualquer um que criasse dificuldade para o tirânico governo da Alemanha Oriental. Ele pôs a mesa enquanto sua irmã preparava o jantar. – Mamãe sempre nos ensinou que, se quiser alguma coisa, você tem de entrar para um partido político e fazer campanha por isso – disse ela. – Bernd e eu queremos que as duas Alemanhas se reunifiquem, para que nós e milhares de outros alemães possamos nos juntar outra vez a nossas famílias. Foi por isso que entramos para o Partido Democrático Livre. Walli queria a mesma coisa, de todo o coração, mas não imaginava como aquilo poderia acontecer. – O que você acha que Kennedy vai fazer? – perguntou. – Ele talvez diga que precisamos conviver com a Alemanha Oriental, pelo menos por enquanto. É verdade, mas não é o que queremos escutar. Se quer saber mesmo o que eu penso, espero que a visita dele seja bem desagradável para os comunistas. Depois de comer, eles assistiram ao noticiário. A imagem de seu televisor de última geração da Franck era em tons distintos de cinza, não borrada e verde como nos aparelhos antigos. Nesse dia, Kennedy tinha visitado Berlim Ocidental. O presidente americano fizera um discurso nos degraus da prefeitura, em Schönenberg. Em frente ao prédio havia uma grande esplanada, que ficou abarrotada de espectadores. Segundo o apresentador, a multidão era de 450 mil pessoas. O jovem e bem-apessoado presidente discursou ao ar livre, em frente a uma imensa bandeira dos Estados Unidos, com a brisa arrepiando seus fartos cabelos. Já começou em tom combativo: – Há quem diga que o comunismo é a onda do futuro. Eles que venham a Berlim! A plateia aprovou com um rugido estrondoso, que ficou ainda mais alto quando ele repetiu a mesma frase em alemão: – Lass’ Sie nach Berlin kommen! Walli viu que Rebecca e Bernd estavam felicíssimos com o discurso. – Ele não está falando em normalização nem aceitando de modo realista o status quo – comentou ela em tom de aprovação. Kennedy foi desafiador: – A liberdade tem muitos obstáculos, e a democracia não é perfeita. – Ele está se referindo aos negros – comentou Bernd. – Mas nós nunca tivemos de erguer um muro para impedir as pessoas de fugirem! – exclamou Kennedy com desdém. – É isso aí! – gritou Walli. O sol do mês de junho batia na cabeça do americano. – Todos os homens livres, onde quer que morem, são cidadãos de Berlim. Assim, como homem livre, tenho orgulho de dizer: Ich bin ein Berliner!
A multidão foi à loucura. Kennedy se afastou do microfone e guardou as anotações no bolso do paletó. Bernd exibia um largo sorriso. – Acho que os soviéticos vão entender o recado – comentou. – Kruschev vai ficar louco de raiva – disse Rebecca. – Quanto mais, melhor – opinou Walli. Ele e Rebecca estavam animados quando foram até a Reeperbahn no furgão que ela havia adaptado para Bernd e sua cadeira de rodas. O El Paso passara a tarde vazio, e agora tinha apenas uns poucos clientes. Dieter, o das botas Stetson, já não tinha sido muito simpático à tarde, e à noite se mostrou ainda mais mal-humorado. Fingiu ter esquecido de pedir para Walli voltar, e o rapaz temeu que ele fosse retirar a proposta de um teste, mas o dono do bar então apontou com o polegar para um diminuto palquinho em um canto. Além de Dieter, uma mulher de meia-idade e busto grande servia atrás do balcão, usando uma camisa quadriculada e uma bandana na cabeça: sua mulher, supôs Walli. Eles obviamente queriam imprimir ao seu estabelecimento uma atmosfera singular, mas nenhum dos dois tinha muito charme e o lugar não atraía muitos clientes, fossem eles americanos ou não. Walli torceu para talvez ser o ingrediente mágico que fosse atrair as multidões. Rebecca comprou duas cervejas. Walli plugou o amplificador e ligou o microfone. Estava animado. Aquilo era o que ele amava e sabia fazer. Olhou para Dieter e a mulher, perguntando-se quando eles queriam que começasse, mas, como nenhum dos dois demonstrou qualquer interesse nele, tocou um acorde e começou a cantar “If I Had a Hammer”. Os poucos clientes olharam para ele por um segundo, curiosos, em seguida voltaram às suas conversas. Rebecca bateu palmas animadas ao mesmo ritmo da música, mas ninguém a acompanhou. Mesmo assim, Walli deu tudo de si, dedilhando as cordas ritmadamente e cantando bem alto. Talvez fosse preciso duas ou três músicas, mas ele conseguiria conquistar aquela plateia, pensou. Na metade da canção, o microfone ficou mudo. O amplificador de Walli também. Era óbvio que a energia no palco tinha caído. Walli terminou a música sem amplificador, calculando que seria um pouco menos constrangedor do que parar no meio. Largou a guitarra e foi até o balcão. – A energia no palco caiu – falou para Dieter. – Eu sei – retrucou o dono da cervejaria. – Fui eu que desliguei. Walli ficou pasmo. – Por quê? – Não quero escutar aquela porcaria. Walli teve a sensação de ter levado um tapa. Sempre que se apresentara em público, as pessoas tinham gostado. Ninguém nunca lhe dissera que sua música era uma porcaria. O choque foi tão grande que ele sentiu um frio na barriga. Mal sabia o que dizer ou como se comportar.
– Eu pedi música americana – acrescentou Dieter. Não fazia o menor sentido. – Aquela música chegou ao topo das paradas nos Estados Unidos! – disse Walli, indignado. – O nome desta cervejaria é uma homenagem a “El Paso”, de Marty Robbins, a melhor música que já foi escrita. Pensei que você fosse tocar esse tipo de coisa. “Tennessee Waltz” ou “On Top of Old Smoky”, músicas de Johnny Cash, Hank Williams ou Jim Reeves. Jim Reeves era o músico mais chato da face da Terra. – Música country, o senhor quer dizer. Dieter não achou que precisasse de explicação. – Eu quero dizer música americana – falou, com a segurança dos ignorantes. De nada adiantava discutir com um bobo daqueles. Mesmo se tivesse entendido o que ele queria, Walli não teria tocado. Não queria ser músico para tocar “On Top of Old Smoky”. Voltou ao palco e guardou a guitarra no estojo. Rebecca tinha um ar atônito. – O que houve? – perguntou. – O dono do bar não gostou do meu repertório. – Mas ele não escutou nem uma música até o fim! – Ele acha que entende muito de música. – Pobre Walli! O desprezo cabeça-dura de Dieter, Walli podia aguentar, mas a pena de Rebecca lhe deu vontade de chorar. – Não faz mal – garantiu. – Eu não iria querer mesmo trabalhar para um babaca desses. – Vou dizer umas verdades para ele – falou Rebecca. – Não, por favor, não faça isso. Não vai ajudar em nada se minha irmã der uma bronca nele. – É, acho que não mesmo. – Vamos. – Ele pegou a guitarra e o amplificador. – Vamos para casa.
O Conjunto Dançante de Joe Henry se apresentava regularmente nas noites de sábado no restaurante do Hotel Europa, em Berlim Oriental, onde tocava standards de jazz e canções de musical para os membros da elite da Alemanha Oriental e suas esposas. Apesar de não ser grande coisa como baterista, na opinião de Walli, Joe – cujo verdadeiro nome era Josef Heinried – sabia manter a batida, mesmo quando estava bêbado. Além disso, era alto funcionário do sindicato dos músicos, portanto não podia ser mandado embora. Joe chegou à entrada de serviço do hotel às seis da tarde, ao volante de um velho furgão Framo V901 preto, com a preciosa bateria toda protegida por almofadas na traseira. Enquanto ele ficava sentado no bar tomando cerveja, Walli se encarregava de levar a bateria até o palco, retirar cada peça dos respectivos estojos de couro e montar o instrumento do jeito que Joe gostava. A bateria era composta por um bumbo com pedal, dois ton-tons, uma caixa, um chimbal, um prato de ataque e um cowbell. Walli manuseava cada peça com a mesma delicadeza com que pegaria em ovos: aquela era uma bateria americana Slingerland que Joe havia ganhado de um GI no carteado na década de 1940, e ele jamais conseguiria comprar outra igual. O cachê era uma miséria, mas, como parte do acordo, Walli e Karolin tocavam no intervalo, durante vinte minutos, como a dupla Bobbsey Twins, e o mais importante de tudo: tinham carteirinhas de músicos sindicalizados, ainda que Walli, aos 17 anos, fosse jovem demais para entrar para o sindicato. Sua avó inglesa, Maud, tinha dado um muxoxo quando ele lhe dissera o nome do dueto. “Quem são vocês, Flossie e Freddie ou Bert e Nan? Ah, Walli, como você me faz rir!” Na verdade, Walli descobriu que os Bobbsey Twins não tinham nada a ver com os Everly Brothers: eram protagonistas de uma coleção de livros infantis antigos sobre as aventuras dos Bobbsey, família perfeita que tinha dois lindos casais de gêmeos de faces rosadas. Mesmo assim, ele e Karolin decidiram manter o nome. Joe era um idiota, mas Walli estava aprendendo mesmo assim. Ele sempre se certificava de que a banda tocasse alto o suficiente para não poder ser ignorada, mas não tão alto a ponto de as pessoas reclamarem que não conseguiam conversar. Deixava cada músico se destacar em um número, o que garantia profissionais felizes. Sempre abria com uma música conhecida, e gostava de terminar quando a pista de dança estava lotada, para deixar no público um gostinho de “quero mais”. Walli não sabia o que o futuro lhe reservava, mas estava bem certo do que queria: seria músico, líder de uma banda admirada e famosa, e iria tocar rock ’n’ roll. Talvez os comunistas viessem a suavizar sua atitude em relação à cultura americana e permitir os grupos de pop. Talvez o comunismo caísse. Ou então, a melhor de todas as alternativas: talvez Walli
arrumasse um jeito de ir para os Estados Unidos. Mas tudo isso estava bem distante no futuro. No momento, sua ambição era que os Bobbsey Twins conquistassem sucesso suficiente para ele e Karolin virarem músicos em tempo integral. Os integrantes da banda de Joe foram chegando enquanto ele montava a bateria, e começaram a tocar às sete em ponto. Os comunistas viam o jazz com ambivalência. Desconfiavam de tudo o que fosse americano, mas o fato de os nazistas terem banido o jazz tornava o ritmo antifascista. No fim das contas, permitiam que fosse tocado por ser muito popular. Como a banda de Joe não tinha vocalista, não havia problema em relação a letras que celebravam valores burgueses como “Top Hat, White Tie and Tails” ou “Puttin’ on the Ritz”. Karolin chegou logo depois, e a presença dela iluminou aqueles bastidores insalubres com um brilho semelhante ao de uma vela, que deu às paredes cinzentas um tom rosado e fez os cantos sujos desaparecerem nas sombras. Pela primeira vez, Walli tinha em sua vida algo tão importante quanto a música. Já tivera outras namoradas. Na verdade, elas apareciam sem que ele precisasse fazer grande esforço. Além disso, em geral haviam se mostrado dispostas a transar, de modo que, para ele, o sexo não era o sonho inatingível que era para a maioria de seus colegas de escola. Mas ele nunca tinha experimentado nada parecido com o amor e a paixão avassaladores que sentia por Karolin. – Nós pensamos igual, e às vezes até dizemos a mesma coisa – contara ele à avó. E Maud comentara: – Ah, sim. Almas gêmeas. Ele e Karolin podiam falar sobre sexo com a mesma naturalidade com que falavam sobre música, confidenciando um ao outro aquilo de que gostavam e aquilo de que não gostavam, embora não houvesse muita coisa de que ela não gostasse. A banda ainda iria tocar por mais uma hora. Walli e Karolin foram para a traseira do furgão de Joe e se deitaram. O bagageiro se transformou em um boudoir fracamente iluminado pelo brilho amarelado das luzes do estacionamento; as almofadas de Joe eram um divã de veludo, e Karolin, uma langorosa odalisca, abrindo as roupas para oferecer o corpo aos beijos de Walli. Tinham tentado transar de camisinha, mas nenhum dos dois gostava muito daquilo. Às vezes iam sem camisinha mesmo e Walli tirava na hora H, mas, segundo Karolin, isso não era muito seguro. Nessa noite, usaram as mãos. Depois de ele gozar no lenço de Karolin, ela lhe mostrou como lhe dar prazer, guiando seus dedos, e gozou com um gemido discreto que mais pareceu de surpresa. – Sexo com a pessoa amada é a segunda melhor coisa do mundo – dissera Maud ao neto. Por algum motivo, uma avó podia dizer coisas que a mãe não podia. – Se é a segunda, qual é a primeira? – perguntara ele.
– Ver nossos filhos felizes. – Achei que você fosse dizer “tocar ragtime” – comentara ele, fazendo Maud rir. Como sempre acontecia, ele e Karolin passaram do sexo à música sem intervalo, como se fossem uma coisa só. Walli lhe ensinou uma canção nova. Tinha um rádio no quarto de casa e costumava ouvir estações americanas que transmitiam de Berlim Ocidental, de modo que conhecia todas as canções mais famosas. Aquela se chamava “If I Had a Hammer”, sucesso do trio americano Peter, Paul e Mary. A batida era contagiante, e ele tinha certeza de que o público iria amar. Karolin tinha reservas quanto à letra, que falava sobre justiça e liberdade. – Nos Estados Unidos, as pessoas consideram Pete Seeger comunista por ter escrito essa letra! – disse Walli. – Acho que ela incomoda as autoridades em qualquer lugar. – E em quê isso ajuda a gente? – perguntou ela, prática e sem remorso. – Ninguém aqui vai entender a letra em inglês. – Está bem – cedeu ela, relutante. – Eu vou ter que parar com isso, mesmo – arrematou. Walli ficou chocado. – Como assim? Karolin ficou séria. Walli percebeu que ela havia guardado a má notícia para não estragar o sexo; tinha um autocontrole impressionante. – Meu pai foi interrogado pela Stasi – disse ela. Seu pai era supervisor em uma rodoviária. Não parecia se interessar por política, e era um suspeito improvável para a polícia secreta. – Por quê? – perguntou Walli. – Interrogado sobre o quê? – Sobre você. – Ai, cacete. – Disseram a ele que você é ideologicamente suspeito. – Qual é o nome do agente que interrogou seu pai? Hans Hoffmann, por acaso? – Não sei. – Aposto que sim. Se Hans não tivesse conduzido o interrogatório, com certeza devia ser o responsável por ele. – Eles disseram que, se eu continuar a ser vista em público cantando com você, papai vai perder o emprego. – E você por acaso precisa fazer o que os seus pais dizem? Já tem 19 anos. – Mas ainda moro com eles. – Karolin tinha terminado o ensino médio, mas estava fazendo um curso técnico de biblioteconomia. – De todo modo, não posso ser responsável pela demissão do meu pai. Walli ficou arrasado. Aquilo estragava o seu sonho. – Mas... mas nós somos ótimos! As pessoas adoram nossa música! – Eu sei. Sinto muito.
– Como é que a Stasi sabe que você canta? – Lembra aquele homem de boina que seguiu a gente na noite em que você me conheceu? Eu o vejo às vezes. – Você acha que ele me segue o tempo todo? – O tempo todo, não – respondeu ela, em voz mais baixa. As pessoas sempre baixavam a voz quando falavam na Stasi, mesmo que não houvesse ninguém por perto para escutar. – Talvez só de vez em quando. Mas acho que em algum momento ele deve ter reparado que eu estava com você e começado a me seguir até descobrir meu nome e endereço, e foi assim que chegaram ao meu pai. Walli se recusou a aceitar o que estava acontecendo. – Vamos para o Ocidente – falou. Karolin fez uma cara aflita. – Ai, meu Deus, quem me dera. – As pessoas fogem o tempo todo. Os dois já tinham conversado sobre isso muitas vezes. Os fugitivos atravessavam canais a nado, forjavam documentos, escondiam-se em caminhões de frutas e legumes ou simplesmente corriam até o outro lado da fronteira. Às vezes suas histórias eram contadas nas estações de rádio da Alemanha Ocidental; mais frequentemente, havia boatos de todo tipo. – E morrem o tempo todo, também. Apesar de ansioso para fugir, Walli também vivia atormentado pela possibilidade de Karolin se machucar durante a fuga, ou coisa pior. Os guardas de fronteira atiravam para matar. E o Muro não parava de mudar, tornando-se a cada dia mais intransponível. No início uma cerca de arame farpado, agora em muitos pontos era uma dupla barreira de placas de concreto com um largo espaço intermediário iluminado por refletores, patrulhado por cães e vigiado por torres. Havia até valas para tanques. Ninguém jamais tentara atravessar em um tanque, mas os guardas de fronteira com frequência fugiam para o outro lado. – Minha irmã fugiu – disse Walli. – Mas o marido dela ficou aleijado. Agora casados, Rebecca e Bernd viviam em Hamburgo, onde eram professores. Mas Bernd, que nunca chegara a se recuperar totalmente da queda, andava de cadeira de rodas. Suas cartas para Carla e Werner eram sempre atrasadas pelos censores, mas acabavam chegando. – De todo modo, aqui eu não quero ficar – disse Walli com decisão. – Vou passar a vida inteira cantando músicas aprovadas pelo Partido Comunista, e você vai virar bibliotecária para seu pai poder manter o emprego na rodoviária. Prefiro morrer. – O comunismo não pode durar para sempre. – Por que não? Já está durando desde 1917. E se tivermos filhos? – Por que está falando nisso? – indagou ela, incisiva. – Se ficarmos aqui, não seremos só nós que estaremos condenados a uma vida na prisão.
Nossos filhos também vão sofrer. – Você quer ter filhos? Walli não pretendia abordar esse assunto. Não sabia se queria filhos. Primeiro precisava salvar a própria vida. – Bom, aqui na Alemanha Oriental, não – respondeu. Nunca pensara nisso, mas depois de pronunciar as palavras teve plena certeza. Karolin ficou séria. – Então talvez a gente deva mesmo fugir. Mas como? Walli já tinha pensado em muitas possibilidades, mas tinha uma favorita. – Já viu o posto de controle perto da minha escola? – Nunca prestei atenção. – É usado por veículos que transportam mercadorias para Berlim Ocidental: carne, produtos de hortifrúti, essas coisas. O governo da Alemanha Oriental não gostava de alimentar Berlim Ocidental, mas, segundo o pai de Walli, precisava do dinheiro. – E daí? Nas suas fantasias, Walli já havia pensado em alguns detalhes. – A barreira naquele ponto é uma cancela de madeira com uns 15 centímetros de espessura. Você mostra os documentos e o guarda levanta a cancela para o seu caminhão passar. No pátio, eles inspecionam sua carga, e na saída tem outra cancela parecida. – Sim, lembro como é. Walli imprimiu à voz mais segurança do que de fato sentia: – Eu acho que um motorista que tivesse problemas com os guardas provavelmente poderia derrubar as duas cancelas. – Nossa, Walli! Que perigo! – Não existe um jeito seguro de fugir. – Você não tem caminhão. – Podemos roubar este furgão. Depois do espetáculo, Joe sempre ficava no bar enquanto Walli embalava a bateria e a guardava de volta no furgão. Quando ele terminava, Joe normalmente já estava bêbado, e o rapaz o levava para casa dirigindo. Não tinha carteira, mas Joe não sabia disso e nunca estivera sóbrio o suficiente para reparar na sua condução hesitante. Após ajudá-lo a entrar no apartamento onde morava, Walli tinha de transportar a bateria até o hall e depois estacionar o furgão na garagem. – Eu poderia pegar hoje, depois do espetáculo. E a gente atravessa amanhã de manhã bem cedo, assim que o posto de controle abrir. – Se eu demorar a chegar em casa, meu pai vai começar a me procurar. – Volte para casa, vá dormir e acorde cedo. Espero você em frente à escola. Joe só vai acordar depois do meio-dia. Quando ele perceber que o furgão sumiu, já estaremos passeando
pelo Tiergarten. Karolin lhe deu um beijo. – Estou com medo, mas amo você. Walli ouviu a banda tocar “Avalon”, última música do primeiro set, e percebeu que os dois estavam conversando havia bastante tempo. – A gente vai entrar daqui a cinco minutos. Vamos lá. A banda desceu do palco e a pista de dança se esvaziou. Walli demorou menos de um minuto para instalar os microfones e o pequeno amplificador de sua guitarra. A plateia retomou seus drinques e conversas. Então os Bobbsey Twins subiram ao palco. Alguns clientes nem repararam, outros os observaram com interesse: eles formavam um belo casal, o que era sempre um bom começo. Como de costume, começaram tocando “Noch Einem Tanz”, que prendeu a atenção das pessoas e as fez rir. Cantaram algumas músicas folclóricas, duas dos Everly Brothers e “Hey, Paula”, sucesso de uma dupla americana bem parecida com eles, chamada Paul e Paula. Walli tinha uma voz mais para aguda, e cantava harmonias sobre a melodia de Karolin. Havia aperfeiçoado um dedilhado de guitarra ao mesmo tempo rítmico e melódico. Terminaram a apresentação com “If I Had a Hammer”. A maior parte da plateia adorou e bateu palmas no mesmo ritmo da batida, embora as palavras “justiça” e “liberdade” do refrão tenham provocado algumas expressões severas. Desceram do palco sob fortes aplausos. Walli estava tonto com a euforia de saber que tinha agradado à plateia. Era melhor do que se embriagar. Teve a sensação de estar voando. Ao passar por ele nas coxias, Joe disse: – Se cantar essa música outra vez, está demitido. A animação de Walli murchou; ele teve a sensação de haver levado um tapa. Furioso, disse para Karolin: – Para mim, chega. Vou embora hoje mesmo. Os dois voltaram para o furgão. Era comum transarem uma segunda vez, mas nessa noite ambos estavam tensos demais. Walli espumava de tanta raiva. – Qual o horário mais cedo em que você poderia me encontrar amanhã? – perguntou a Karolin. Ela pensou por alguns instantes. – Vou para casa agora e digo a eles que preciso deitar cedo porque tenho de acordar cedo amanhã... para o ensaio do desfile de 1o de maio da faculdade. – Ótimo. – Poderia encontrar você às sete sem levantar suspeitas. – Perfeito. Não vai ter muito tráfego no posto de controle a essa hora, em um domingo de manhã. – Então me dê outro beijo. Eles se beijaram demoradamente, com sofreguidão. Walli tocou seus seios, então se
afastou. – Da próxima vez que nós transarmos, estaremos livres. Desceram do furgão. – Às sete – repetiu ele. Karolin acenou e desapareceu noite adentro. Walli passou o resto da noite tomado por uma onda de esperança misturada com raiva. Sentia-se constantemente tentado a demonstrar o desprezo que sentia por Joe, mas também temia que, por algum motivo, não conseguisse roubar o furgão. Se demonstrou o que estava sentindo, porém, Joe não reparou, e à uma da manhã Walli estacionou o veículo na rua em frente à sua escola. O posto de controle ficava a duas esquinas dali e os guardas não podiam vê-lo, o que era uma coisa boa; não queria que o vissem e ficassem desconfiados. Deitou-se sobre as almofadas na traseira e fechou os olhos, mas estava frio demais para dormir. Passou a maior parte da noite pensando na família. Fazia mais de um ano que seu pai estava com um humor terrível. Werner não era mais dono da fábrica em Berlim Ocidental; tinha transferido o negócio para o nome de Rebecca, para o governo da Alemanha Oriental não poder encontrar um jeito de tomá-lo da família. Embora não pudesse ir à fábrica pessoalmente, continuava tentando tocá-la, e contratara um contador dinamarquês para servir de intermediário. Como era estrangeiro, Enok Andersen podia passar de Berlim Ocidental a Berlim Oriental uma vez por semana para encontrar Werner. Mas isso não era jeito de administrar um negócio, e seu pai estava ficando maluco. Walli tampouco pensava que a mãe estivesse feliz. Chefe da enfermagem em um grande hospital, Carla praticamente só pensava em trabalho. Odiava os comunistas tanto quanto os nazistas, mas não podia fazer nada em relação a isso. Sua avó Maud exibia o mesmo estoicismo de sempre. Segundo ela, a Alemanha vinha brigando com a Rússia desde que ela se lembrava, e seu único desejo era viver o suficiente para ver quem iria ganhar. Ela achava que tocar guitarra era uma conquista, ao contrário de seus pais, que consideravam aquilo uma perda de tempo. De todos eles, era de Lili que ele sentiria mais falta. Sua irmã agora tinha 14 anos, e ele gostava bem mais dela do que quando eram ambos crianças e ela, uma pestinha. Tentou não pensar muito nos perigos que enfrentaria. Não queria perder a coragem. Durante a madrugada, ao sentir sua determinação enfraquecer, pensava nas palavras de Joe: “Se cantar essa música outra vez, está demitido.” A lembrança atiçava sua raiva. Se ficasse na Alemanha Oriental, passaria o resto da vida ouvindo de imbecis como Joe o que deveria tocar. Não seria vida, seria um inferno; impossível de aguentar. Independentemente do que acontecesse, precisava ir embora dali. Qualquer alternativa era inconcebível. Pensar assim lhe deu coragem. Às seis, ele saiu do furgão e partiu em busca de uma bebida quente e de algo para comer. No entanto, não encontrou nada aberto, nem mesmo nas estações de trem, e voltou para o furgão mais faminto do que nunca. Mas a caminhada o havia aquecido.
A luz do dia tornou o ar menos gelado. Walli foi se sentar no banco do motorista para poder ver Karolin chegar. Ela não teria nenhuma dificuldade para encontrá-lo: conhecia o furgão, e de toda forma não havia mais nenhum veículo do mesmo tipo estacionado perto da escola. Visualizou vezes sem conta o que estava prestes a fazer. Pegaria os guardas de surpresa. Eles levariam alguns segundos para entender o que estava acontecendo. Depois disso, provavelmente começariam a atirar. Com sorte, quando começassem a atirar, Walli e Karolin já os teriam deixado para trás e eles teriam de mirar na traseira do furgão. Que perigo isso poderia representar? Ele realmente não fazia a menor ideia. Nunca tinha sido alvejado por tiros. Nunca sequer tinha visto alguém disparar uma arma de fogo, por qualquer motivo que fosse. Não sabia se balas atravessavam um veículo ou não. Lembrava-se de ouvir o pai dizer que acertar alguém com uma arma não era tão fácil quanto parecia nos filmes. Seu conhecimento parava por aí. Teve alguns instantes de ansiedade quando um carro de polícia passou. O policial sentado no carona o encarou. Se pedissem para ver sua habilitação, ele estaria frito. Amaldiçoou a própria estupidez por não ter ficado na traseira do furgão. Mas a viatura não parou. Na sua imaginação, se algo saísse errado, tanto ele quanto Karolin seriam mortos pelos guardas. Ocorreu-lhe porém, pela primeira vez, que um poderia ser baleado e o outro sobreviver. Era uma possibilidade terrível. Eles muitas vezes diziam “eu te amo” um para o outro, mas agora ele estava sentindo isso de outra forma. Amar alguém, percebeu, era ter algo tão precioso que não se podia suportar perdê-lo. Uma possibilidade ainda pior lhe passou pela cabeça: um deles poderia ficar aleijado, como Bernd. Como ele se sentiria se Karolin ficasse paralisada por sua culpa? Iria querer se matar. Seu relógio enfim indicou as sete da manhã. Pensou se alguma daquelas possibilidades teria ocorrido a Karolin. Quase certamente sim. Em que mais ela poderia ter passado a noite pensando? Será que iria aparecer andando pela rua, sentar ao seu lado no furgão e lhe dizer baixinho que não estava disposta a correr aquele risco? O que ele faria nesse caso? Não poderia desistir e passar o resto da vida atrás da Cortina de Ferro. Mas seria capaz de abandoná-la e ir sozinho? Quando deu sete e quinze e ela não apareceu, ficou decepcionado. Às sete e meia, a decepção virou preocupação e, às oito, se transformou em desespero. O que tinha saído errado? Será que o pai dela tinha descoberto que não havia ensaio do desfile de 1o de maio da faculdade nesse dia? Por que ele se daria ao trabalho de verificar uma informação dessas? Será que Karolin ficara doente? Mas estava com a saúde perfeita na noite anterior. Será que tinha mudado de ideia? Talvez. Ela nunca tivera tanta certeza quanto Walli da necessidade de fugir. Externava dúvidas,
previa dificuldades. Quando haviam conversado sobre o assunto na noite anterior, ele desconfiara que ela fosse contra o plano todo até o momento em que mencionara criar os filhos na Alemanha Oriental. Fora nessa hora que ela havia se rendido ao seu raciocínio. Mas agora parecia ter repensado. Ele decidiu lhe dar até as nove. E depois? Iria sozinho? Não sentia mais fome. Sua tensão era tanta que ele sabia que não conseguiria comer. Mas estava com sede. Teria quase trocado a guitarra por um café quentinho com creme. Às quinze para as nove, uma moça esguia de cabelos louros veio caminhando pela rua em direção ao furgão e o coração de Walli acelerou, mas quando ela chegou perto ele viu que suas sobrancelhas eram escuras, a boca pequena e os dentes da frente saltados. Não era Karolin. Às nove, Karolin ainda não tinha aparecido. Ir ou ficar? Se cantar essa música outra vez, está demitido. Ele deu a partida no motor. Avançou bem devagar e dobrou a primeira esquina. Precisaria estar em alta velocidade para romper a cancela de madeira. Por outro lado, se chegasse a toda, os guardas perceberiam. Precisava começar em velocidade normal, diminuir um pouco para enganá-los e então pisar fundo no acelerador. Infelizmente, quando se pisava fundo no acelerador daquele furgão, pouca coisa acontecia. O Framo tinha um motor de dois tempos com três cilindros de 900 cilindradas. Walli pensou que talvez devesse ter mantido a bateria no bagageiro, para que o peso do instrumento desse mais impulso ao furgão na hora do impacto. Dobrou uma segunda esquina e viu o posto de controle surgir à sua frente. A uns 300 metros, a rua estava bloqueada por uma cancela que podia ser erguida para dar acesso a uma área aberta com uma guarita. O espaço tinha uns 50 metros de comprimento. Outra cancela de madeira bloqueava a saída. Depois disso, a rua era deserta por uns 30 metros antes de se transformar em uma rua normal de Berlim Ocidental. Berlim Ocidental, pensou; depois a Alemanha Ocidental e então os Estados Unidos. Um caminhão aguardava antes da primeira cancela. Walli parou o furgão depressa. Se entrasse em uma fila, estaria perdido, pois não teria muitas chances de ganhar velocidade. Quando o caminhão passou pela cancela, um segundo veículo apareceu. Walli aguardou. No entanto, viu um guarda olhando na sua direção e percebeu que a sua presença tinha sido notada. Em uma tentativa de disfarçar, saltou do furgão, deu a volta e abriu a porta de trás. Dali podia ver através do para-brisa. Assim que o segundo veículo entrou no espaço entre as duas cancelas, retornou ao banco do motorista. Engatou a marcha do furgão e hesitou. Ainda dava tempo de desistir. Poderia levar o furgão de volta à garagem de Joe, deixá-lo lá e voltar a pé para casa; seu único problema seria
explicar aos pais onde havia passado a noite. Vida ou morte. Se esperasse agora, outro caminhão poderia surgir e entrar na sua frente, e depois disso um guarda poderia vir andando pela rua para lhe perguntar o que ele achava que estava fazendo, espreitando bem na frente de um posto de controle. E sua oportunidade estaria perdida. Se você cantar essa música outra vez... Soltou a alavanca de marchas e o furgão avançou. Chegou a 50 quilômetros por hora, depois diminuiu um pouco. O guarda postado junto à cancela o observava. Ele pisou no freio. O guarda olhou para o outro lado. Walli meteu o pé no acelerador até o fundo. O guarda ouviu a mudança no barulho do motor e se virou, com a testa levemente franzida de incompreensão. Enquanto o furgão começava a acelerar, acenou para Walli com o gesto de quem manda diminuir. Walli pisou com mais força no pedal, mas não adiantou nada; o Framo foi ganhando velocidade devagar, feito um elefante. Walli viu a expressão do guarda mudar em câmera lenta: de curiosidade para reprovação e, por fim, alarme. Então o homem entrou em pânico. Embora não estivesse no caminho do furgão, deu três passos para trás e se colou a uma parede. Walli deu um berro que foi parte grito de guerra, parte puro terror. O furgão atingiu a cancela com um estrondo de metal se deformando. O impacto o projetou para a frente, contra o volante, que bateu dolorosamente em suas costelas. Isso ele não havia previsto. De repente, ficou difícil recuperar o fôlego. Mas a cancela de madeira se partiu com um estalo igual a um tiro e o furgão seguiu em frente, com a velocidade só um pouco reduzida pelo impacto. Ele engatou a primeira e acelerou. Os dois veículos à sua frente tinham encostado para serem inspecionados, deixando o caminho livre até a saída. As outras pessoas presentes na área aberta, três guardas e dois motoristas, se viraram para ver o que era aquele barulho. O Framo ganhou velocidade. Walli sentiu uma onda de confiança. Iria conseguir! Então um guarda com presença de espírito acima da média se ajoelhou e mirou nele a submetralhadora. Estava de um dos lados do caminho que Walli teria de usar para sair. De repente, o rapaz se deu conta de que iria passar bem perto dele. Com certeza seria alvejado e morto. Sem pensar, girou o volante e partiu direto para cima do guarda. O guarda disparou uma rajada. O para-brisa se espatifou, mas, para seu próprio espanto, Walli não foi atingido. Estava quase em cima do sujeito. De repente, foi acometido pelo horror de passar com um veículo por cima de um homem vivo, e deu uma guinada no volante para desviar. Mas já era tarde, e a frente do furgão acertou o homem com um baque nauseante e o derrubou no chão. – Não! – gritou Walli. O furgão se inclinou quando a roda dianteira passou por cima do guarda. – Ai, meu Deus! – gemeu.
Nunca quisera machucar ninguém. À medida que Walli era dominado pelo desespero, o furgão diminuía a velocidade. Ele quis saltar, ver se o guarda ainda estava vivo e, caso estivesse, ajudá-lo. Então os tiros recomeçaram e ele percebeu que, se pudessem, os guardas agora iriam matá-lo. Atrás de si, ouviu balas acertarem a carroceria do furgão. Pressionou o pedal para baixo e deu outra guinada no volante para tentar acertar a trajetória. Tinha perdido o impulso. Conseguiu virar o volante na direção da cancela de saída. Não sabia se estava rápido o suficiente para quebrá-la. Resistindo ao impulso para trocar de marcha, deixou o motor guinchar na primeira. Sentiu uma dor súbita, como se alguém tivesse cravado uma faca em sua perna. O susto e a dor o fizeram gritar. Seu pé soltou o pedal e o furgão perdeu velocidade na hora. Ele teve de se forçar a pisar novamente, apesar de estar com muita dor. Chegou a gritar de tanta agonia, e sentiu o sangue quente escorrer pela canela até o sapato. O furgão atingiu a segunda cancela de madeira. Walli foi novamente projetado para a frente; o volante o acertou nas costelas; a cancela de madeira se partiu como a primeira e desapareceu da sua frente; e de novo o furgão seguiu adiante. O Framo cruzou um trecho de concreto. O tiroteio cessou. Walli viu uma rua com lojas, anúncios de Lucky Strike e de Coca-Cola, carros novos e lustrosos, e o melhor de tudo: um pequeno grupo de soldados atônitos usando uniformes americanos. Tirou o pé do acelerador e tentou frear. De repente, a dor foi demais: sua perna parecia paralisada, e ele não conseguiu pisar no pedal do freio. Desesperado, guiou o veículo para cima de um poste. Os soldados correram até o furgão e um deles abriu a porta. – Aí, garoto! Você conseguiu! – falou. Consegui, pensou Walli. Estou vivo e livre. Mas sem Karolin. – Foi uma fuga e tanto – comentou o soldado, admirado. Não era muito mais velho do que ele. Quando Walli relaxou, a dor ficou insuportável. – Minha perna está doendo – conseguiu dizer. O soldado olhou para baixo. – Jesus, olha só quanto sangue... – Virou-se e falou com alguém mais atrás: – Ei, chame uma ambulância! Walli desmaiou.
O ferimento a bala de Walli foi costurado e ele recebeu alta do hospital no dia seguinte, com hematomas nas costelas e uma atadura em volta da canela esquerda. Segundo os jornais, o guarda de fronteira que ele havia atropelado tinha morrido. Mancando, foi até a fábrica de televisores Franck e contou sua história a Enok Andersen, o
contador dinamarquês, que tomou providências para avisar a Werner e Carla que seu filho estava bem. Deu-lhe alguns marcos alemães, e Walli alugou um quarto na Associação Cristã de Moços. Suas costelas doíam toda vez que ele se virava na cama, e ele dormiu mal. No dia seguinte, foi buscar sua guitarra no furgão. Ao contrário dele próprio, o instrumento sobrevivera intacto à travessia. O furgão, no entanto, estava irrecuperável. Walli deu entrada em um pedido de passaporte da Alemanha Ocidental, que era concedido aos fugitivos de forma quase automática. Estava livre. Tinha escapado do puritanismo sufocante do regime comunista de Walter Ulbricht. Podia tocar e cantar tudo o que quisesse. E estava desconsolado. Morria de saudades de Karolin. Sentia como se uma de suas mãos tivesse sido amputada. Não parava de pensar em coisas que lhe diria ou perguntaria naquela noite ou no dia seguinte, para de repente se lembrar que não podia falar com ela, e todas as vezes essa lembrança terrível o atingia como um chute no estômago. Quando via uma garota bonita na rua, pensava no que ele e Karolin poderiam fazer no sábado seguinte na traseira do furgão de Joe, então se dava conta de que não haveria mais noites na traseira do furgão, então a tristeza o dominava. Quando passava em frente a clubes nos quais poderia tocar, pensava se conseguiria suportar se apresentar sem Karolin ao seu lado. Falou ao telefone com sua irmã Rebecca, que insistiu para ele ir morar em Hamburgo com ela e o marido, mas agradeceu e disse não. Não conseguia sair de Berlim com Karolin ainda morando na parte oriental. Uma semana depois, louco de saudades, pegou a guitarra e foi até o clube de folk Minnesänger, onde havia conhecido a namorada dois anos antes. Um cartaz do lado de fora dizia que o local estava fechado às segundas, mas, como a porta estava entreaberta, entrou mesmo assim. Sentado em frente ao bar, fazendo contas em um livro-caixa, estava o jovem apresentador e proprietário da casa, Danni Hausmann. – Eu me lembro de você – disse ele. – Da dupla Bobbsey Twins. Vocês eram ótimos. Por que nunca voltaram? – Os Vopos destruíram meu violão – explicou Walli. – Mas estou vendo que você já arrumou outro instrumento. Walli assentiu. – Mas perdi Karolin. – Que mancada. Ela era bem bonita. – Nós dois morávamos no lado oriental. Ela continua lá, mas eu fugi. – Como? – Arrebentei a cancela com um furgão. – Foi você?! Li no jornal sobre isso. Nossa, cara, que demais! Mas por que não trouxe a
garota? – Ela marcou comigo e não apareceu. – Que droga... Quer beber alguma coisa? Ele foi para trás do bar. – Aceito, obrigado. Queria voltar para buscá-la, mas agora estou sendo procurando por assassinato lá. Danni serviu duas canecas de chope. – Os comunistas fizeram um escarcéu por causa disso. Estão dizendo que você é um criminoso violento. Eles também tinham pedido a extradição de Walli. O governo da Alemanha Ocidental recusara dizendo que o guarda havia atirado em um cidadão alemão que só queria passar de uma rua de Berlim para outra, e que a responsabilidade pela sua morte era do regime oriental, que governava sem ter sido eleito e aprisionava de forma ilegal seus habitantes. Racionalmente, Walli não achava que tivesse feito nada de errado, mas em seu coração não conseguia se acostumar com a ideia de ter matado um homem. – Se eu atravessar a fronteira, eles vão me prender. – Cara, você está fodido. – E até agora não sei por que Karolin não apareceu. – E não pode voltar lá e perguntar a ela. A menos que... Walli apurou os ouvidos. – A menos que o quê? Danni hesitou. – Nada. Walli pousou a caneca. Não podia deixar passar um comentário daqueles. – Vamos lá, cara... a menos que o quê? – De todas as pessoas em Berlim, acho que posso confiar no cara que matou um guarda de fronteira da Alemanha Oriental – disse Danni, pensando em voz alta. Aquela conversa estava deixando Walli maluco. – Que história é essa? Danni se decidiu. – Ah, é só uma coisa da qual ouvi falar. Se fosse só uma coisa da qual ele tivesse ouvido falar, não faria tanto segredo, pensou Walli. – Do que você ouviu falar? – Que talvez tenha um jeito de voltar sem passar por um posto de controle. – Como? – Não posso dizer. Walli ficou bravo; o rapaz parecia estar brincando com ele. – Então por que tocou nesse assunto, porra?
– Calma, ok? Não posso dizer, mas poderia apresentar você a uma pessoa. – Quando? Depois de pensar um pouco, Danni respondeu à pergunta com outra pergunta: – Está disposto a voltar hoje? Tipo agora? Apesar do medo que sentia, Walli não hesitou: – Estou. Mas por que a pressa? – Para você não ter oportunidade de contar a ninguém. Eles não são exatamente profissionais em relação à segurança, mas também não são completamente estúpidos. Danni estava se referindo a um grupo organizado. Aquilo soava promissor. Walli se levantou do banco. – Posso deixar minha guitarra aqui? – Vou guardar no depósito. – Ele pegou o estojo do instrumento e o trancou dentro de um armário junto com vários outros e alguns amplificadores. – Vamos lá. O Minnesänger ficava bem perto da Ku’damm. Danni fechou o clube e eles foram a pé até a estação de metrô mais próxima. Reparou que Walli estava mancando. – Os jornais disseram que você tomou um tiro na perna. – É. Está doendo para caralho. – Acho que posso confiar em você. Um agente da Stasi disfarçado não iria se ferir. Walli não sabia se ficava empolgado ou apavorado. Será que conseguiria realmente voltar a Berlim Oriental naquele mesmo dia? Isso parecia superar suas expectativas. No entanto, também lhe causava grande temor. Na Alemanha Oriental ainda havia pena de morte. Se fosse preso, provavelmente seria executado na guilhotina. Os dois atravessaram a cidade de metrô. Ocorreu a Walli que aquilo poderia ser uma cilada. A Stasi com certeza devia ter agentes em Berlim Ocidental, e o dono do Minnesänger poderia muito bem ser um deles. Será que teriam tanto trabalho assim para pegá-lo? Era um pouco excessivo, mas, sabendo como Hans Hoffmann era vingativo, Walli achava possível. Ficou observando Danni discretamente durante o trajeto no metrô. Será que ele poderia ser um agente da Stasi? Era difícil de imaginar. Devia ter 25 anos e usava os cabelos meio compridos penteados para a frente, como estava na moda. Calçava botas com elásticos nas laterais e bicos pontudos. Administrava uma casa noturna de sucesso. Era bacana demais para ser da polícia. Por outro lado, ele ocupava uma posição perfeita para espionar os jovens anticomunistas de Berlim Ocidental; a maioria devia frequentar seu clube. Danni devia conhecer quase todos os líderes estudantis do lado ocidental. Será que a Stasi se importava com o que esses jovens faziam? É claro que sim. Seus agentes tinham a mesma obsessão de padres medievais caçadores de bruxas. Mas, se aquela oportunidade significava falar com Karolin só mais uma vez, Walli não podia deixá-la passar.
Prometeu a si mesmo ficar atento. O sol já estava se pondo quando saíram do metrô no bairro de Wedding. Caminharam em direção ao sul, e Walli logo percebeu que estavam rumando para a Bernauer Strasse, por onde Rebecca tinha fugido. À luz cada vez mais fraca, pôde ver como a rua estava diferente. Do lado sul, um muro de concreto havia substituído a cerca de arame farpado; os prédios do lado comunista estavam em plena demolição. Do lado livre, onde ele e Danni estavam, a rua tinha um aspecto malcuidado, e as lojas no andar térreo dos prédios de apartamentos pareciam abandonadas. Imaginou que ninguém quisesse morar tão perto do Muro, que aviltava os olhos e o coração. Danni o conduziu até os fundos de um dos prédios, onde entraram pela porta de serviço de uma loja abandonada que parecia ter sido uma mercearia, pois nas paredes se viam reclames de azulejo anunciando salmão e chocolate em pó. Só que pilhas altas de terra ocupavam a loja e os cômodos em volta, deixando apenas uma estreita passagem, e Walli começou a desconfiar do que estava acontecendo ali. Danni abriu uma porta e desceu uma escada de concreto iluminada por uma lâmpada elétrica. Walli foi atrás. O dono do clube disse bem alto uma frase que talvez fosse em código: “Submarinos a caminho!” No pé da escada ficava um grande porão, decerto usado como estoque pelo dono da mercearia. No piso agora se abria um poço quadrado de um metro de largura, encimado por um guincho de aspecto surpreendentemente profissional. Eles tinham cavado um túnel. – Há quanto tempo isso existe? – perguntou Walli. Se sua irmã tivesse sabido sobre o túnel no ano anterior, poderia ter fugido por ali, evitando assim o acidente responsável pela paralisia de Bernd. – Tempo demais – respondeu Danni. – Terminamos faz uma semana. – Ah. – O túnel era recente demais para ter tido alguma serventia para Rebecca. – O túnel só é usado ao entardecer. De dia, seria muito visível, e à noite teríamos de usar lanternas, o que poderia chamar atenção. Mesmo assim, o risco de sermos descobertos aumenta toda vez que fazemos alguém atravessar. Um rapaz de jeans emergiu do poço por uma escada; devia ser um dos estudantes que haviam escavado o túnel. Encarou Walli com firmeza e perguntou: – Quem é esse, Danni? – Pode deixar que eu garanto, Becker. Conheço o garoto desde antes do Muro. – O que ele está fazendo aqui? – Becker se mostrava hostil, desconfiado. – Ele quer atravessar. – Para o lado oriental?! – Eu fugi na semana passada, mas preciso voltar por causa da minha namorada – explicou Walli. – Não posso atravessar por um posto de controle normal porque matei um guarda de fronteira, então estou sendo procurado por assassinato. – Aquele cara é você? – Becker o examinou outra vez. – É, estou reconhecendo pela foto
no jornal. – Seu comportamento mudou. – Pode passar, mas não tem muito tempo. – Ele olhou para o relógio. – Eles vão começar a passar do lado oriental daqui a exatamente dez minutos. No túnel mal cabe uma pessoa, e não quero que você provoque um engarrafamento e atrapalhe os fugitivos. Apesar do medo, Walli não quis perder a oportunidade. – Vou passar agora – falou, disfarçando a ansiedade. – Tá bom, pode ir. Walli apertou a mão de Danni. – Obrigado. Volto para buscar minha guitarra. – Boa sorte com a garota. Walli desceu depressa pela escada. O poço tinha três metros de profundidade. No fundo ficava a entrada de um túnel com cerca de um metro de altura. Ele logo viu que a construção era sólida. O chão estava coberto por tábuas de madeira, e o teto tinha escoras a intervalos regulares. Ficou de quatro e começou a engatinhar. Depois de alguns segundos, percebeu que não havia luz. Continuou engatinhando até o túnel ficar totalmente escuro. Foi dominado por um medo visceral. Sabia que o perigo de verdade seria quando saísse na Alemanha Oriental, do outro lado, mas seu instinto animal lhe dizia para sentir medo ali, enquanto engatinhava sem conseguir ver nem um centímetro à frente do nariz. Para se distrair, tentou visualizar a paisagem urbana lá em cima. Devia estar passando por baixo de uma rua, depois do Muro, depois das casas semidestruídas do lado comunista; mas não fazia ideia de qual era o comprimento do túnel nem de onde terminava. O esforço o deixara ofegante, suas mãos e joelhos doíam de tanto roçar na madeira, e o ferimento a bala na canela ardia de tanta dor, mas tudo o que ele pôde fazer foi cerrar os dentes e prosseguir. O túnel não podia ser infinito; tinha de acabar em algum lugar. Ele só precisava continuar engatinhando. A sensação de estar perdido em uma escuridão sem fim não passava de um pânico infantil. Ele precisava manter a calma. Era capaz disso. No final daquele túnel estava Karolin – não no sentido literal, mas pensar no sorriso sensual de sua boca larga lhe deu coragem. Uma réstia de luz surgiu mais à frente, ou teria sido sua imaginação? Por muito tempo, a luz permaneceu débil demais para que ele pudesse ter certeza, mas por fim ficou mais forte e, alguns segundos depois, ele adentrou um espaço com iluminação elétrica. Viu outro poço acima da cabeça. Subiu uma escada e percebeu que estava em outro porão. Três pessoas o encaravam. Duas carregavam bagagens; supôs que fossem fugitivos. A terceira, provavelmente um dos estudantes responsáveis pelo túnel, olhou para ele e disse: – Eu não conheço você! – Foi Danni quem me trouxe. Meu nome é Walli Franck.
– Tem gente demais sabendo sobre este túnel! – disse o sujeito com uma voz tensa e aguda. Bom, é claro que tem, pensou Walli: todo mundo que foge obviamente conhece o segredo. Entendeu por que Danni tinha dito que o perigo aumentava sempre que o túnel era usado. Pensou se continuaria aberto quando ele quisesse voltar. A possibilidade de ficar preso outra vez na Alemanha Oriental quase o fez querer dar meia-volta e engatinhar de novo até o outro lado. O homem se virou para os outros dois que carregavam as bagagens. – Podem ir – instruiu. Os dois desceram pelo poço. Tornando a se virar para Walli, apontou para um lance de degraus de pedra. – Suba lá e espere. Quando a barra estiver limpa, Cristina vai abrir o alçapão do lado de fora. Aí você sai. Depois disso, vai estar por sua conta. – Obrigado. – Walli subiu a escada até a cabeça encostar em um alçapão de ferro no teto. Imaginou que aquilo antigamente devia ser usado para entregas de algum tipo. Agachou-se nos degraus e forçou-se a ter paciência. Para sua sorte, tinha alguém vigiando o lado de fora, caso contrário ele poderia ser visto saindo. Alguns minutos depois, o alçapão foi aberto. À luz do início da noite, ele viu uma moça de lenço cinza na cabeça. Saiu rapidamente, e duas outras pessoas com bagagens desceram apressadas pelos degraus. A moça chamada Cristina fechou o alçapão. Walli constatou, surpreso, que havia uma pistola presa em seu cinto. Olhou em volta. Estava dentro de um pequeno pátio murado nos fundos de um prédio de apartamentos abandonado. Cristina apontou para uma porta de madeira na parede. – Por ali – falou. – Obrigado. – Suma daqui. Rápido. Estavam todos tensos demais para serem educados. Walli abriu a porta e saiu para a rua. À sua esquerda, a poucos metros, erguia-se o Muro. Ele dobrou à direita e começou a andar. No início, não parou de olhar em volta, imaginando que um carro da polícia fosse aparecer cantando pneus. Depois tentou agir normalmente e caminhar saltitando pela calçada como costumava fazer. Por mais que tentasse, porém, não conseguiu parar de mancar; a dor na perna era demais. Seu primeiro impulso foi ir direto para a casa de Karolin, mas não podia bater à sua porta. O pai dela chamaria a polícia. Não tinha pensado direito naquilo. Talvez fosse melhor ir encontrá-la na tarde seguinte, depois das aulas. Não havia nada suspeito no fato de um rapaz esperar a namorada na saída da faculdade, e ele já tinha feito isso muitas vezes. Precisava dar um jeito de nenhuma das colegas dela ver seu rosto. Estava louco de impaciência para vê-la, mas seria loucura não tomar cuidado. Até lá, o que poderia fazer?
A saída do túnel ficava na Strelitzer Strasse, que avançava na direção sul até entrar no centro antigo da cidade, Berlin-Mitte, onde sua família morava. Ele estava a poucos quarteirões da casa dos pais. Poderia ir para casa. Talvez eles até ficassem felizes em vê-lo. Quando chegou perto de sua rua, imaginou se a casa poderia estar sendo vigiada. Caso estivesse, não poderia ir para lá. Pensou outra vez em mudar a própria aparência, mas não tinha nada com que se disfarçar: naquela manhã, ao sair de seu quarto na Associação Cristã de Moços, nem sequer sonhava que ao cair da noite estaria de volta a Berlim Oriental. Na casa de sua família haveria chapéus, cachecóis e outras peças úteis de vestuário, mas primeiro ele precisava chegar lá a salvo. Felizmente, já estava escuro. Seguiu pela rua dos pais na calçada oposta, vasculhando os arredores em busca de pessoas que pudessem ser espiões da Stasi. Não viu ninguém à espreita, nem sentado em algum carro estacionado, nem parado junto a uma janela. Mesmo assim, foi até o final da rua e contornou o quarteirão. Na volta, esgueirou-se para dentro do beco que conduzia aos quintais dos fundos. Abriu um portão, atravessou o quintal dos pais e chegou à porta da cozinha. Eram nove e meia: seu pai ainda não tinha trancado a casa. Walli abriu a porta e entrou. A luz estava acesa, mas não tinha ninguém na cozinha. O jantar terminara havia tempo e seus parentes deviam estar na sala íntima do andar de cima. Ele cruzou o hall de entrada e subiu a escada. A porta da sala estava aberta, e ele entrou. Sua mãe, seu pai, sua irmã e sua avó assistiam à TV. – Oi, gente – falou. Lili deu um grito. – Meu Deus do céu! – exclamou sua avó Maud, em inglês. Carla empalideceu e tapou a boca com as duas mãos. Werner se levantou. – Filho – falou. Com dois passos, atravessou a sala e tomou Walli nos braços. – Meu filho, graças a Deus! Uma represa de sentimentos se rompeu no coração de Walli, e ele chorou. Sua mãe o abraçou em seguida, chorando copiosamente. Então foi a vez de Lili e de Maud. Walli enxugou os olhos com a manga da camisa de brim, mas as lágrimas não paravam de brotar. Aquela forte emoção o pegara de surpresa. Aos 17 anos, ele se considerava preparado para ficar sozinho e longe da família, mas agora percebia que estava apenas adiando as lágrimas. Por fim, todos se acalmaram e secaram os olhos. Carla refez o curativo do ferimento de Walli, que havia sangrado durante a travessia do túnel, em seguida preparou um café e trouxe um pedaço de bolo; ele se deu conta de que estava faminto. Depois de comer e beber até ficar satisfeito, contou-lhes a história toda. Então, quando eles esgotaram as perguntas, foi se deitar.
No dia seguinte, às três e meia da tarde, de boina e óculos escuros, estava encostado em um muro do outro lado da rua em frente à faculdade de Karolin. Tinha chegado cedo: as moças só saíam às quatro. Um sol otimista brilhava sobre Berlim. A cidade era um misto de prédios antigos imponentes, concreto moderno em ângulos retos e terrenos baldios que iam desaparecendo aos poucos nos pontos bombardeados durante a guerra. Walli estava muito ansioso. Dali a poucos minutos veria o rosto de Karolin, emoldurado por longas cortinas de cabelos louros, com a boca larga sorridente. Iria beijá-la e sentir a textura carnuda e macia dos lábios dela sob os seus. Quem sabe até, antes do fim daquela noite, eles se deitassem juntos para transar. Também estava louco de curiosidade. Por que ela não aparecera para fugir com ele, nove dias antes? Tinha quase certeza de que algo havia acontecido para atrapalhar seus planos: o pai de alguma forma podia ter adivinhado o que ela estava tramando e trancado a filha no quarto, ou algum outro revés. Mas também estava com medo – um medo leve, mas não desprezível – de ela ter mudado de ideia em relação a ir com ele. Mal podia conceber os motivos possíveis para uma coisa dessas. Será que ela ainda o amava? As pessoas mudavam. A mídia na Alemanha Oriental o havia retratado como um assassino impiedoso. Será que isso tinha afetado Karolin? Logo iria descobrir. Apesar de arrasados com o que acontecera, seus pais não tinham tentado fazê-lo mudar de ideia. Consideravam-no jovem demais para sair de casa, mas sabiam que ele não podia ficar na parte oriental sem ir para a prisão. Tinham lhe perguntado o que ele iria fazer no Ocidente, estudar ou trabalhar, e ele respondera que não poderia tomar decisão nenhuma sem antes ter falado com Karolin. Werner e Carla tinham aceitado essa resposta, e pela primeira vez seu pai não tentara lhe dizer o que fazer. Eles o estavam tratando como adulto. Fazia anos que ele vinha exigindo isso, mas agora que estava acontecendo sentia-se perdido e assustado. As alunas começaram a sair da faculdade. O prédio era um antigo banco convertido em salas de aula. As alunas, todas adolescentes do sexo feminino, estudavam para ser datilógrafas, bibliotecárias e agentes de viagem. Carregavam bolsas, livros e pastas. Usavam conjuntos de suéter e saia adequados à primavera, um pouco fora de moda: candidatas a secretária precisavam se vestir com modéstia. Karolin finalmente apareceu, usando um twin set verde e carregando os livros dentro de uma velha pasta de couro. Ela estava diferente, pensou Walli, com o rosto um pouco mais redondo. Não podia ter engordado tanto em uma semana, ou podia? Vinha acompanhada por duas outras moças, conversando, embora não risse quando as colegas riam. Walli temeu que, se fosse falar com ela agora, as outras o notariam. Seria perigoso: mesmo estando disfarçado, elas talvez
soubessem que o notório assassino e fugitivo Walli Franck namorava Karolin, e poderiam desconfiar que aquele rapaz de óculos escuros era ele. Sentiu um pânico brotar dentro de si: será que os seus objetivos poderiam ser frustrados com tanta facilidade agora, no último instante, depois de tudo por que ele havia passado? Então as duas amigas dobraram à esquerda e se despediram com um aceno, e Karolin atravessou a rua sozinha. Quando ela se aproximou, ele tirou os óculos e disse: – Oi, amor. Ela o encarou, reconheceu-o e estacou com um gritinho de susto. Walli viu em sua expressão surpresa, medo e alguma outra coisa... culpa, talvez? Ela então correu até ele, largou a pasta no chão e se jogou em seus braços. Beijaram-se e abraçaram-se, e Walli se sentiu inundado de alívio e felicidade. Sua primeira pergunta estava respondida: ela ainda o amava. Um minuto depois, percebeu que transeuntes os encaravam, alguns sorrindo, outros com um ar reprovador. Tornou a pôr os óculos escuros. – Vamos – falou. – Não quero que ninguém me reconheça. Recolheu do chão a pasta que ela havia largado. Os dois se afastaram da faculdade de mãos dadas. – Como você conseguiu voltar? – perguntou ela. – É seguro? O que vai fazer? Alguém sabe que você está aqui? – Temos muito o que conversar – respondeu ele. – Precisamos de um lugar para sentar onde ninguém nos incomode. Do outro lado da rua, viu uma igreja. Talvez estivesse aberta para quem buscasse a calma espiritual. Levou Karolin até a porta. – Você está mancando – comentou ela. – O guarda de fronteira me deu um tiro na perna. – Está doendo? – Você nem imagina quanto. A porta da igreja estava destrancada, e eles entraram. Era um templo protestante simples, mal iluminado, com filas de bancos duros. Bem lá no fundo, uma mulher de lenço na cabeça espanava o púlpito. Walli e Karolin foram se sentar na última fila e começaram a conversar baixinho. – Eu te amo – disse Walli. – Eu também te amo. – O que aconteceu domingo de manhã? Você deveria ter ido me encontrar. – Fiquei com medo – respondeu ela. Não era a resposta que Walli esperava, e ele achou difícil de entender. – Eu também fiquei com medo – falou. – Mas nós tínhamos prometido um ao outro. – Eu sei.
Viu que ela estava aflita de tanto remorso, mas não era só isso. Não queria torturá-la, mas precisava saber a verdade. – Eu corri um risco terrível. Você não deveria ter dado para trás sem me avisar. – Desculpe. – Eu não teria feito a mesma coisa com você – continuou ele. – Amo você demais para isso – acrescentou, em tom acusador. Ela recuou, como se ele tivesse lhe dado um tapa. Sua resposta, porém, foi enérgica. – Eu não sou covarde – falou. – Se você me ama, como pôde me deixar na mão? – Eu daria minha vida por você. – Se fosse mesmo verdade, teria ido comigo. Como pode dizer isso agora? – Por que não é só a minha vida que está em risco. – A minha também está. – E a de outra pessoa. Walli não entendeu. – De quem, pelo amor de Deus? – Estou falando da vida do nosso filho. – Hein?! – Nós vamos ter um filho, Walli. Eu estou grávida. A boca de Walli se escancarou. Ele não conseguiu dizer nada. Em um segundo, seu mundo virou de cabeça para baixo. Karolin estava grávida. Um bebê iria entrar em suas vidas. Um filho seu. – Deus do céu – falou, por fim. – Fiquei tão dividida, Walli... – retomou ela, angustiada. – Você tem que tentar entender. Eu queria ir com você, mas não podia pôr o bebê em risco. Não podia entrar naquele furgão sabendo que você passaria direto pela cancela. Não me importaria de me machucar, mas não podia machucar a criança. – Seu tom era de súplica. – Diga que me entende. – Eu entendo – disse ele. – Acho que entendo. – Obrigada. Ele segurou sua mão. – Então tá, vamos decidir o que fazer. – Eu sei o que eu vou fazer – disse ela, com firmeza. – Eu já amo esse bebê. Não quero tirar. Ela já devia saber que estava grávida havia algumas semanas, calculou ele, e tinha pensado muito bem no assunto. Mesmo assim, ficou espantado com a firmeza daquela decisão. – Você fala como se a situação não tivesse nada a ver comigo – reclamou. – O corpo é meu! – retrucou ela, arrebatada. A faxineira olhou para trás e Karolin baixou a voz, mas seu tom continuou firme: – Nenhum homem vai me dizer o que fazer com o meu corpo, nem você nem meu pai!
Walli imaginou que o pai devia ter tentado convencê-la a abortar. – Eu não sou o seu pai – falou. – Não vou lhe dizer o que fazer nem quero convencê-la a abortar. – Desculpe. – Mas esse filho é nosso, ou só seu? Ela começou a chorar. – Nosso – respondeu. – Então que tal a gente conversar sobre o que fazer... juntos? Ela apertou sua mão. – Como você é maduro – comentou. – É bom que seja assim... vai ser pai antes dos 18 anos. Essa perspectiva era um choque para Walli. Pensou no próprio pai, com seus cabelos curtos e seus coletes. Ele agora seria obrigado a desempenhar aquele papel: firme, autoritário, confiável, sempre capaz de ser o provedor da família. Karolin podia dizer o que quisesse, mas ele não estava pronto para isso. Só que não tinha outra saída. – Para quando é? – perguntou. – Novembro. – Você quer se casar? Sem parar de chorar, ela sorriu. – Você quer se casar comigo? – Mais do que tudo neste mundo. – Obrigada. – Ela o abraçou. A faxineira deu uma tossida de reprovação. Conversar podia, mas contato físico, não. – Você sabe que eu não posso ficar aqui do lado oriental – disse Walli. – Seu pai não consegue arrumar um advogado? Ou fazer alguma pressão política? Se todas as circunstâncias forem esclarecidas, o governo talvez conceda um indulto. A família de Karolin não era envolvida com política. A de Walli, sim, e ele sabia, com toda a certeza, que jamais seria perdoado por ter matado um guarda de fronteira. – Impossível – falou. – Se eu ficar aqui, vou ser executado por assassinato. – Então o que pode fazer? – Preciso voltar para o Ocidente e ficar lá, a não ser que o comunismo caia, e não acho que isso vá acontecer enquanto eu estiver vivo. – Não. – Você tem que ir comigo para Berlim Ocidental. – Como? – Do mesmo jeito que eu vim para cá. Uns universitários cavaram um túnel debaixo da Bernauer Strasse. – Ele olhou para o relógio. O tempo estava passando depressa. – Temos que estar lá por volta da hora do pôr do sol.
Ela fez uma cara horrorizada. – Hoje? – É, agora. – Ai, meu Deus. – Não prefere que o nosso filho cresça em um país livre? O conflito interior provocou nela uma careta semelhante à de dor. – Eu preferiria não correr riscos terríveis. – Eu também. Mas a gente não tem escolha. Ela desviou os olhos dele para as filas de bancos, a faxineira caprichosa, e uma placa na parede que dizia EU SOU O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA. Walli pensou que aquilo não ajudava em nada, mas Karolin tomou sua decisão. – Então vamos – disse ela, e se levantou. Saíram da igreja. Walli seguiu na direção norte. Karolin estava cabisbaixa, e ele tentou animá-la. – Os Bobbsey Twins estão vivendo uma aventura – falou. Ela deu um sorriso rápido. Walli pensou se os dois poderiam estar sendo vigiados. Tinha quase certeza de que ninguém o vira deixar a casa dos pais pela manhã: saíra pelos fundos, e não fora seguido por ninguém. Mas será que Karolin estava sendo vigiada? Talvez houvesse outro homem esperando que ela saísse da faculdade, um especialista em passar despercebido. Começou a olhar por cima do ombro a cada minuto ou algo assim, para verificar se alguém se mantinha constantemente visível. Não viu nada suspeito, mas conseguiu amedrontar Karolin. – O que está fazendo? – indagou ela, assustada. – Vendo se tem alguém seguindo a gente. – O cara de boina, você quer dizer? – Pode ser. Vamos pegar um ônibus. – Estavam passando por um ponto, e Walli empurrou a namorada para o final da fila. – Por quê? – Para ver se alguém embarca e salta junto. Infelizmente, era horário de pico, e milhares de berlinenses estavam pegando ônibus e trens de volta para casa. Quando o ônibus chegou, a fila atrás deles já tinha várias pessoas, e ele examinou bem cada uma delas ao embarcarem. Havia uma mulher de capa de chuva, uma garota bonita, um homem de macacão azul, outro de terno e chapéu de feltro, e dois adolescentes. Eles deixaram passar três pontos antes de saltar. A mulher de capa de chuva e o sujeito de macacão saltaram também. Walli seguiu rumo ao oeste, de volta na direção da qual tinham vindo, calculando que, se alguém os seguisse em um trajeto tão fora de propósito, com certeza isso seria suspeito.
Mas ninguém o fez. – Tenho quase certeza de que não estamos sendo seguidos – disse ele para Karolin. – Estou com muito medo – confessou ela. O sol estava se pondo; eles não tinham tempo a perder. Viraram para o norte, em direção a Wedding. Walli olhou para trás outra vez. Viu um homem de meia-idade usando o casaco de lona marrom de um operário de armazém, mas não tinha reparado nele antes. – Acho que está tudo bem – falou. – Eu nunca mais vou ver minha família, não é? – Não por algum tempo. A menos que eles também fujam. – Meu pai jamais iria embora daqui. Ele ama aqueles ônibus. – No Ocidente também há ônibus. – Você não conhece meu pai. De fato, Walli não o conhecia, e Karolin tinha razão: seu pai não poderia ser mais diferente do inteligente e decidido Werner Franck. Não tinha qualquer ideal político ou religioso, e não dava a mínima para a liberdade de opinião. Se vivesse em uma democracia, provavelmente nem sequer se daria ao trabalho de votar. Gostava do trabalho, da família e do seu bar preferido. Sua comida predileta era pão. O comunismo supria todas as suas necessidades. Ele jamais fugiria para o Ocidente. Quando chegaram à Strelitzer Strasse, o sol já havia baixado. Conforme avançavam pela rua em direção ao final sem saída, rente ao Muro, Karolin ia ficando cada vez mais tensa. Mais à frente, Walli reparou em um casal jovem com uma criança. Pensou se eles também estariam fugindo. Sim, estavam: abriram a porta que dava para o pátio interno e sumiram por ali. Walli e Karolin chegaram lá, e ele disse: – É por ali que temos de entrar. – Quero minha mãe comigo na hora do parto – disse Karolin. – A gente está quase lá! – exclamou Walli. – Depois daquela porta tem um pátio com um alçapão. Basta descer pelo poço e atravessar o túnel rumo à liberdade! – Estou com medo de fugir – falou ela. – Estou com medo de dar à luz. – Vai correr tudo bem – garantiu Walli, em desespero. – No Ocidente, os hospitais são ótimos. Você vai estar cercada por médicos e enfermeiras. – Eu quero a minha mãe – insistiu ela. Por cima de seu ombro, a 400 metros de distância, Walli viu, na esquina da rua, o homem de casaco marrom falando com um policial. – Que merda! A gente estava sendo seguido. – Olhou para a porta, depois para Karolin. – É agora ou nunca. Eu não tenho escolha. Preciso ir. Você vem ou não? Ela estava aos prantos. – Eu quero, mas não consigo.
Um carro dobrou a esquina em alta velocidade. Parou junto ao policial e o homem do casaco marrom. Uma silhueta conhecida saltou do carro, um homem alto, de costas curvas: Hans Hoffmann. Ele disse alguma coisa ao homem do casaco marrom. – Ou você vem junto, ou vai embora daqui depressa. As coisas vão desandar – disse Walli para Karolin. Encarou-a. – Eu te amo. Então passou correndo pela porta. Em pé junto ao alçapão estava Cristina, ainda usando o mesmo lenço na cabeça e com a mesma pistola no cinto. Ao ver Walli, ela abriu as portas de ferro. – Talvez você precise dessa pistola – avisou ele. – A polícia está vindo. Olhou para trás uma única vez. A porta de madeira na parede permaneceu fechada. Karolin não o havia seguido. Sua barriga se contraiu de dor: era o fim. Desceu a escada às pressas. No subsolo, o jovem casal com a criança estava em pé com um dos estudantes. – Rápido! – gritou Walli. – A polícia está vindo! Eles desceram pelo poço, primeiro a mãe, depois a criança, e por último o pai. A criança demorou a descer a escada. Cristina também desceu e fechou o alçapão de ferro atrás de si com um baque. – Como a polícia nos achou? – perguntou ela. – A Stasi estava seguindo minha namorada. – Seu idiota imbecil, você traiu todos nós! – Então eu desço por último. O estudante desceu pelo poço, e Cristina fez menção de ir atrás. – Me dê a pistola – pediu Walli. Ela hesitou. – Se eu estiver atrás de você, não vai conseguir atirar. Ela lhe entregou a arma. Walli segurou a pistola com delicadeza: era igualzinha àquela que seu pai tinha pegado no esconderijo da cozinha no dia em que Rebecca e Bernd fugiram. Cristina reparou na sua hesitação. – Já atirou alguma vez na vida? – perguntou. – Nunca. Ela tornou a pegar a pistola e acionou uma alavanca perto do cão. – Assim a trava de segurança está solta. Aí é só mirar e apertar o gatilho. Ela tornou a prender a trava de segurança e lhe entregou a pistola outra vez. Então desceu a escada do poço. Walli agora podia ouvir gritos e motores de carro do lado de fora. Não conseguia adivinhar o que a polícia estava fazendo, mas obviamente o seu tempo estava se esgotando. Entendeu como as coisas tinham saído errado: Hans Hoffmann mandara seguir Karolin, sem dúvida na esperança de que Walli voltasse para buscá-la. O homem que a seguia a vira
encontrar um rapaz e ir embora com ele. Alguém decidira não prendê-los na hora, mas ver se poderiam conduzir quem os seguia até um grupo de cúmplices. Houvera uma discreta troca da guarda na hora em que eles saltaram do ônibus, e outra pessoa começara a segui-los: o homem do casaco marrom. Em determinado momento, ele percebera que os dois estavam indo na direção do Muro e dera o alarme. Agora a polícia e a Stasi estavam lá fora, revistando a parte dos fundos daqueles prédios abandonados para tentar entender onde ele e Karolin tinham ido parar. A qualquer momento iriam encontrar o alçapão. Com a pistola em punho, Walli desceu pelo poço atrás dos outros. Chegando lá embaixo, ouviu o baque do alçapão de ferro: a polícia tinha encontrado a entrada do túnel. Instantes depois, ouviu gritos roucos de surpresa e triunfo quando eles viram o buraco no chão. Na boca do túnel, teve de aguardar vários instantes, agoniado, até Cristina desaparecer lá dentro. Então foi atrás, mas logo parou. Era magro, e quase conseguia se virar na passagem estreita. Espiou para fora e viu a larga silhueta de um policial pisando a escada do poço. Não tinha jeito; a polícia estava perto demais. Tudo o que os agentes precisavam fazer era apontar as armas para dentro do túnel e disparar. Walli seria baleado, e quando caísse as balas passariam por cima dele e atingiriam a pessoa seguinte, e assim por diante: um banho de sangue. Ele sabia que a polícia não hesitaria em atirar, pois não havia misericórdia com fugitivos, nunca. Seria uma verdadeira carnificina. Precisava impedir que eles entrassem no poço. Mas não queria matar outro homem. Ajoelhado logo após a entrada do túnel, soltou a trava de segurança da Walther. Esticou para fora do túnel a mão que segurava a pistola, apontou-a para cima e puxou o gatilho. A arma deu um coice em sua mão. O estrondo ecoou bem alto dentro do espaço confinado. Imediatamente depois, ele ouviu gritos de consternação e medo, mas não de dor, e calculou que devia ter assustado os policiais sem chegar a acertar ninguém. Espiou para fora e viu o homem subir depressa a escada e sair do poço. Aguardou. Sabia que os fugitivos na sua frente iram devagar por causa da criança. Pôde ouvir os policiais discutindo em tom raivoso o que fazer. Nenhum deles estava disposto a descer pelo poço; era suicídio, afirmou alguém. Mas não podiam simplesmente deixar as pessoas fugirem! Para reforçar o perigo que a polícia corria, Walli deu um segundo tiro. Ouviu uma súbita movimentação de pânico, como se todos houvessem se afastado do poço. Pensou que tivesse conseguido afugentá-los. Virou-se para começar a engatinhar. Então ouviu uma voz bem conhecida. – Precisamos de granadas – disse Hans Hoffmann. – Ai, caralho! – praguejou Walli. Enfiou a pistola no cinto e começou a engatinhar túnel adentro. Não podia fazer nada agora
a não ser se afastar o máximo possível. Em pouco tempo, sentiu os sapatos de Cristina à sua frente. – Rápido! – gritou. – A polícia foi buscar granadas! – Não consigo ir mais rápido do que o cara na minha frente! – gritou ela de volta. Só lhe restava segui-la. Estava escuro agora. Nenhum ruído vinha do porão lá atrás. Policiais normais em geral não deviam portar granadas, supôs, mas Hans poderia conseguir algumas com guardas de fronteira ali perto em poucos minutos. Apesar de não conseguir ver nada, podia escutar a respiração ofegante dos outros fugitivos e o roçar de seus joelhos nas tábuas de madeira. A criança começou a chorar. Na véspera, Walli a teria amaldiçoado por ser um estorvo perigoso, mas agora que seria pai tudo o que conseguiu sentir por aquela criança assustada foi pena. O que a polícia iria fazer com as granadas? Será que os agentes prefeririam ficar em segurança e soltar uma delas dentro do poço, onde os danos seriam pequenos? Ou um deles teria coragem para descer e atirar uma dentro do túnel, com consequências mais letais? Isso poderia matar todos os fugitivos. Walli decidiu que precisava fazer mais alguma coisa para tentar conter a polícia. Deitouse, rolou para o outro lado, sacou a pistola e se apoiou no cotovelo esquerdo. Não conseguia ver nada, mas apontou na direção da entrada do túnel e apertou o gatilho. Várias pessoas gritaram. – O que foi isso? – perguntou Cristina. Walli guardou a pistola e recomeçou a engatinhar. – Foi só para desencorajar a polícia. – Da próxima vez, avise, pelo amor de Deus. Ele viu uma luz à frente. O túnel estava parecendo mais curto na volta. Ouviu gritos de alívio quando os outros perceberam que estavam chegando ao fim. Pegou-se engatinhando mais depressa, empurrando os sapatos de Cristina. Atrás dele, houve uma explosão. A onda de choque foi perceptível, mas fraca, e ele soube na hora que a polícia tinha jogado a primeira granada no poço. Nunca tinha prestado atenção suficiente nas aulas de física da escola, mas supôs que, naquelas circunstâncias, toda a força da explosão fosse direcionada para cima. No entanto, pôde prever o que Hans faria em seguida. Uma vez certo de que não havia mais ninguém à espreita logo na entrada do túnel, mandaria um policial descer o poço e lançar uma granada lá dentro. À sua frente, o grupo já estava saindo para o porão da mercearia abandonada. – Rápido! – gritou. – Subam a escada depressa! Cristina saiu do túnel e ficou em pé no poço, com um sorriso no rosto. – Relaxe – falou. – Aqui é o Ocidente. Nós saímos... estamos livres! – Granadas! – gritou Walli. – Subam o mais depressa que conseguirem!
O casal com a criança subia a escada do poço com uma lentidão excruciante. O estudante e Cristina foram atrás. Parado ao pé da escada, Walli tremia de impaciência e medo. Subiu logo depois de Cristina, com o rosto colado nos joelhos dela. Ao chegar lá em cima, viu todos em pé por ali, rindo e se abraçando. – No chão, no chão! – gritou. – Granadas! – Ele se jogou no chão. Um estrondo terrível ecoou. A onda de choque pareceu sacudir o subsolo. Ouviu-se então o ruído de algo sendo sugado, como um chafariz, e Walli imaginou que a terra estivesse esguichando pela boca do túnel. Dito e feito: uma chuva de lama e pedras se abateu sobre ele. O guincho acima do poço desabou e caiu dentro do buraco. O barulho se extinguiu. Não se ouvia nada no porão exceto os soluços da criança. Walli olhou em volta. O nariz da criança sangrava, mas ela parecia ilesa, e ninguém mais aparentava estar ferido. Ele olhou pela borda do poço e viu que o túnel tinha desabado. Endireitou-se, tremendo. Tinha conseguido. Estava vivo e livre. E sozinho.
Rebecca havia gastado grande parte do dinheiro do pai naquele apartamento em Hamburgo, o térreo do antigo casarão de um comerciante. Todos os cômodos, até o banheiro, eram grandes o bastante para Bernd poder virar a cadeira de rodas. Ela mandara instalar todos os equipamentos disponíveis para uma pessoa paraplégica. Paredes e tetos eram coalhados de cordas e barras para ele poder tomar banho, se vestir e subir e descer da cama. Bernd podia até cozinhar se quisesse, mas, assim como a maioria dos homens, era incapaz de preparar qualquer coisa mais complexa do que ovos. Ela estava decidida – furiosamente decidida – a ter a vida mais normal possível com o marido, apesar da sua condição. Os dois iriam aproveitar seu casamento, seus empregos e sua liberdade. Teriam uma vida plena e recompensadora. Qualquer outra coisa equivaleria a conceder a vitória aos tiranos do outro lado do Muro. A situação de Bernd não havia mudado desde que ele saíra do hospital. Segundo os médicos, havia uma chance de melhora, e ele precisava manter as esperanças. Um dia, insistiam eles, talvez pudesse até gerar filhos. Rebecca nunca deveria parar de tentar. Ela sentia que tinha muito com que se alegrar. Estava dando aulas de novo, fazendo aquilo que sabia fazer, abrindo a mente dos jovens para os tesouros intelectuais do mundo em que viviam. Amava Bernd, cuja gentileza e bom humor tornavam todos os dias prazerosos. Os dois eram livres para ler o que quisessem, pensar o que bem entendessem e dizer o que melhor lhes aprouvesse, sem ter de se preocupar com espiões da polícia. Rebecca também tinha um objetivo a longo prazo. Ansiava por tornar a ver a família algum dia. Não sua família original; a lembrança dos pais biológicos, apesar de emocionalmente forte, era distante e vaga. Mas Carla a resgatara dos horrores da guerra e a fizera se sentir
segura e amada, mesmo quando todos passavam fome, frio e medo. Ao longo dos anos, a casa em Mitte tinha se enchido com pessoas que a amavam e que ela também amava: o bebê Walli, depois seu novo pai, Werner, e em seguida uma nenenzinha, Lili. Até mesmo a avó Maud, aquela velha senhora inglesa extremamente digna, tinha amado e cuidado de Rebecca. Iria reencontrá-los quando todos os alemães ocidentais pudessem se reunir a todos os alemães-orientais. Muitas pessoas achavam que esse dia jamais iria chegar, e talvez tivessem razão. Mas Carla e Werner haviam lhe ensinado que, se você quisesse mudanças, precisava tomar atitudes políticas para conquistá-las. – Na minha família, apatia não é uma opção – dissera ela a Bernd. Assim, os dois haviam se filiado ao Partido Democrático Livre, que, apesar de liberal, não era tão socialista quando o Partido Social Democrata de Willy Brandt. Rebecca era secretária de divisão, e Bernd, tesoureiro. Na Alemanha Ocidental, as pessoas podiam ser do partido que quisessem, com exceção do Partido Comunista, que era ilegal. Rebecca era contra essa proibição. Apesar de odiar o comunismo, achava que bani-lo era um gesto tipicamente comunista, não democrático. Todos os dias, ela e Bernd iam juntos para o trabalho, de carro. Voltavam depois das aulas, e Bernd punha a mesa enquanto ela preparava o jantar. Em alguns dias, depois de comerem, o massagista de Bernd aparecia. Como ele não podia mexer as pernas, elas precisavam ser massageadas com regularidade para melhorar a circulação e evitar, ou pelo menos adiar, que nervos e músculos definhassem. Rebecca tirava a mesa enquanto o marido ia para o quarto com Heinz. Nessa noite, ela se sentou com uma pilha de cadernos de exercícios e começou a corrigilos. Pedira aos alunos que escrevessem um anúncio imaginário sobre as atrações de Moscou como destino turístico. Eles gostavam de trabalhos bem-humorados. Uma hora depois, Heinz foi embora e ela entrou no quarto. Bernd estava deitado na cama, nu. A parte superior de seu corpo era bem musculosa, pois ele precisava usar os braços constantemente para se movimentar. Já as pernas, finas e brancas, pareciam as de um velho. Em geral, a massagem lhe proporcionava um bem-estar tanto físico quanto mental. Rebecca se inclinou por cima dele e o beijou na boca, um beijo lento, demorado. – Eu te amo – falou. – Estou tão feliz por ser casada com você... Dizia isso com frequência, primeiro porque era verdade, mas também porque ele precisava ouvir: sabia que de vez em quando ele se perguntava como ela podia amar um aleijado. Em pé na sua frente, tirou a roupa. Ele gostava de vê-la fazer isso, dizia, ainda que nunca ficasse excitado. Ela havia aprendido que os paraplégicos raramente tinham ereções psicogênicas, do tipo provocado por imagens ou pensamentos sensuais. Mesmo assim, seus olhos a observaram com evidente satisfação enquanto ela abria o sutiã, tirava as meias finas e a calcinha. – Você está linda.
– E sou toda sua. – Que sorte eu tenho. Ela se deitou ao seu lado e os dois começaram a se acariciar langorosamente. Antes e depois do acidente, o sexo com Bernd sempre fora baseado em beijos suaves e carinhos sussurrados, não apenas na penetração. Nisso ele era bem diferente do seu primeiro marido. Hans seguia sempre o mesmo esquema: beijar, tirar a roupa, ficar de pau duro, gozar. A filosofia de Bernd era o que você quiser, na ordem que preferir. Depois de algum tempo, ela montou nele e se posicionou para ele poder beijar seus seios e chupar os mamilos. Ele havia adorado aqueles seios desde o início, e agora os saboreava com a mesma intensidade e deleite de antes do acidente; isso a excitava mais do que tudo. Quando se sentiu pronta, ela perguntou: – Você quer tentar? – Claro. A gente deve tentar sempre. Ela chegou um pouco para trás até ficar sentada em cima das pernas murchas de Bernd e curvou-se sobre o seu sexo, começando a manipulá-lo. O órgão cresceu um pouco, e ele teve o que se chama de ereção por reflexo. Durante alguns instantes, ficou duro o suficiente para penetrá-la, mas logo tornou a amolecer. – Não faz mal – disse ela. – Eu não ligo – falou ele, mas Rebecca sabia que não era verdade. Bernd adoraria ter um orgasmo. E queria ter filhos, também. Ela se deitou ao seu lado, segurou sua mão e a guiou até sua vagina. Ele posicionou os dedos do jeito que ela havia lhe ensinado, e ela então pressionou a mão dele com a sua e começou a movê-la em um ritmo constante. Era como se masturbar, só que usando a mão dele. Com a outra mão, Bernd acariciava seus cabelos. Funcionou, como sempre funcionava, e Rebecca teve um orgasmo delicioso. Depois de gozar, deitada ao lado dele, falou: – Obrigada. – De nada. – Não só por isso. – Por que mais, então? – Por ter vindo comigo. Por ter fugido. Nunca vou ser capaz de dizer quanto sou grata a você. – Que bom. A campainha tocou. Eles se entreolharam, intrigados: não estavam esperando ninguém. – Vai ver Heinz esqueceu alguma coisa – disse Bernd. Rebecca sentiu uma leve irritação. Seu prazer tinha evaporado. Vestiu um roupão e foi até a porta, mal-humorada. Deu de cara com Walli. Seu irmão estava magro e cheirava mal. Vestia uma calça jeans, tênis americanos e uma camiseta encardida, e estava sem casaco. Segurava uma guitarra e
mais nada. – Oi, Rebecca. O mau humor dela desapareceu num passe de mágica. Ela abriu um largo sorriso. – Walli! Que surpresa maravilhosa! Como estou feliz por ver você! Recuou um passo para deixá-lo entrar no hall. – O que está fazendo aqui? – perguntou. – Vim morar com vocês – respondeu ele.
CAPÍTULO VINTE E DOIS
A cidade mais racista dos Estados Unidos devia ser Birmingham, no Alabama. Em abril de 1963, George Jakes pegou um avião para lá. A lembrança estava muito viva na sua mente: da última vez que estivera no Alabama, tinham tentado matá-lo. Birmingham era uma cidade industrial suja que, do avião, exibia uma delicada aura cor-derosa por causa da poluição, como um lenço de chifon em volta do pescoço de uma velha prostituta. George sentiu a hostilidade assim que atravessou o saguão do aeroporto. Era o único negro de terno. Lembrou-se do ataque sofrido por ele, Maria e os outros Viajantes da Liberdade em Anniston, a apenas 100 quilômetros dali: as bombas, os tacos de beisebol, os pedaços de corrente girando no ar, e sobretudo os rostos contorcidos e deformados até virarem máscaras de ódio e loucura. Saiu do aeroporto, localizou o ponto de táxi e entrou no primeiro carro da fila. – Fora deste carro, garoto – disse o motorista. – Como é? – Não dirijo para crioulo nenhum. George suspirou. Relutou em descer do táxi. Teve vontade de ficar sentado ali, em protesto. Não gostava de facilitar a vida dos racistas. Mas tinha um trabalho a fazer em Birmingham, e não poderia fazê-lo na prisão. Por isso, desceu. Em pé junto à porta aberta do táxi, olhou para o resto da fila. O carro seguinte tinha um motorista branco, e ele supôs que fosse receber o mesmo tratamento. Então, três carros adiante, um braço marrom-escuro esticou-se pela janela e lhe acenou. Ele se afastou do primeiro táxi. – Feche a porta! – berrou o motorista. Depois de hesitar um instante, George respondeu: – Não fecho a porta para segregacionista nenhum. Não era uma resposta muito boa, mas mesmo assim lhe proporcionou uma pequena satisfação, e ele foi embora deixando a porta escancarada. Entrou no carro do taxista negro. – Até já sei para onde o senhor vai – disse o sujeito. – Para a Igreja Batista da Rua 16. Era lá que ficava o quartel-general do veemente pregador Fred Shuttlesworth, que havia fundado o Movimento Cristão do Alabama pelos Direitos Civis depois que os tribunais do estado tornaram ilegal a moderada NAACP. Obviamente, partia-se do princípio de que qualquer negro que chegasse ao aeroporto era um ativista de direitos civis. Mas George não estava indo à igreja.
– Motel Gaston, por gentileza. – Sei onde fica o Gaston – disse o motorista. – Assisti ao Little Stevie Wonder no saguão de lá. Fica só a um quarteirão da igreja. O dia estava quente e o táxi não tinha ar-condicionado. George abaixou a janela e deixou o vento refrescar sua pele suada. Tinha sido mandado a Birmingham por Bobby Kennedy com um recado para Martin Luther King: pare de fazer pressão, esfrie a situação, acabe com os protestos; as coisas estão mudando. Tinha a sensação de que o Dr. King não iria gostar. O Gaston era um hotel moderno, com poucos andares. O dono, A. G. Gaston, era um exmineiro de carvão que havia se transformado no principal homem de negócios negro da cidade. George sabia que ele estava nervoso com as perturbações que a campanha de King causavam em Birmingham, mas ainda assim apoiava o reverendo. O táxi de George passou pela entrada e entrou no estacionamento. Martin Luther King estava no quarto 30, a única suíte do hotel, mas, antes de se encontrar com ele, George foi almoçar com Verena Marquand no restaurante Jockey Boy, ali perto. Quando pediu seu hambúrguer ao ponto para malpassado, a garçonete o olhou como se ele estivesse falando uma língua estrangeira. Verena pediu uma salada. Estava mais atraente do que nunca, de calça e blusa pretas. Será que está namorando?, pensou George. – Você está indo ladeira abaixo – comentou enquanto esperavam a comida. – Primeiro Atlanta, agora Birmingham. Vá para Washington, senão vai acabar indo parar em Mudslide, Mississippi. Ele estava brincando, mas de fato achava que, se ela fosse para Washington, talvez a chamasse para sair. – Eu vou aonde o movimento me leva – respondeu ela, séria. Seus pratos chegaram. – Por que King decidiu escolher esta cidade como alvo? – perguntou George enquanto comiam. – O comissário de Segurança Pública, que na prática manda na polícia, é um branco racista e cruel chamado Eugene Connor. O apelido dele é Bull, “touro”. – Já vi o nome dele no jornal. – O apelido diz tudo o que você precisa saber sobre o cara. Como se não bastasse, Birmingham também tem a divisão mais violenta da Ku Klux Klan. – Algum palpite sobre o motivo? – Esta cidade vive da produção do aço, e essa indústria está em declínio. Os empregos qualificados e mais bem remunerados sempre foram reservados para os brancos, enquanto os negros realizavam serviços mal pagos, como faxinas, por exemplo. Agora os brancos estão desesperados tentando manter sua prosperidade e seus privilégios, bem na hora em que os negros estão exigindo seu justo quinhão.
Era uma análise certeira, e o respeito de George por Verena cresceu um pouco mais. – E como isso se manifesta? – Integrantes da Ku Klux Klan jogam bombas caseiras nas casas de negros ricos em bairros mistos. Há quem chame a cidade de Bombingham. Nem é preciso dizer que a polícia nunca prende ninguém e que, por algum motivo, o FBI é incapaz de descobrir quem pode estar fazendo isso. – Não é nenhuma surpresa. J. Edgar Hoover também não consegue encontrar a Máfia. Mas ele sabe o nome de todos os comunistas do país. – Só que o poder dos brancos aqui está em declínio. Algumas pessoas estão começando a perceber que ele não faz nenhum bem à cidade. Bull Connor acabou de perder uma eleição para prefeito. – Eu sei. A opinião da Casa Branca é que os negros vão conseguir o que querem oportunamente, se tiverem paciência. – Já o Dr. King pensa que agora é a hora de aumentar a pressão. – E que resultado isso está tendo? – Para ser sincera, estamos decepcionados. Quando nos sentamos no balcão de alguma lanchonete, as garçonetes apagam as luzes e dizem que lamentam, mas estão fechando. – Estratégia esperta. Algumas cidades agiram de forma parecida com os Viajantes da Liberdade: em vez de criar confusão, simplesmente ignoraram o que estava acontecendo. Só que a maioria dos segregacionistas é incapaz de tanto autocontrole, e eles logo voltaram a espancar as pessoas. – Bull Connor não quer nos autorizar a fazer passeatas, então nossos protestos são ilegais e, em geral, os manifestantes são presos, mas não em número tão grande a ponto de chegar ao noticiário nacional. – Então talvez esteja na hora de mudar de tática. Uma jovem negra entrou no café e foi até sua mesa. – O reverendo está livre para recebê-lo agora, Sr. Jakes. George e Verena largaram os pratos pela metade. Como no caso do presidente, ninguém deixava o Dr. King esperando enquanto terminava o que fazia. Voltaram para o Gaston e subiram a escada até a suíte do reverendo. Como sempre, ele estava de terno escuro; parecia indiferente ao calor. Mais uma vez, George ficou impressionado com sua baixa estatura e com sua beleza. Dessa vez King se mostrou menos ressabiado e mais hospitaleiro. – Sente-se, por favor – falou, acenando para um sofá. Mesmo quando as palavras eram ferinas, sua voz se mantinha suave. – O que o secretário de Justiça tem para me dizer que não pode falar ao telefone? – Ele quer que o senhor considere a possibilidade de adiar sua campanha aqui no Alabama. – Por algum motivo, isso não me espanta.
– Ele apoia o que o senhor está tentando alcançar, mas teme que os protestos sejam inoportunos. – Por quê? – Bull Connor acaba de perder a eleição para prefeito para Albert Boutwell. O governo da cidade foi renovado. Boutwell é reformista. – Há quem pense que Boutwell é apenas uma versão mais digna de Bull Connor. – Reverendo, pode até ser, mas Bobby gostaria que o senhor desse a Boutwell uma chance de mostrar a que veio... para o bem ou para o mal. – Entendo. Então o recado é: espere. – Sim, reverendo. King olhou para Verena, como se a estivesse convidando a se pronunciar, mas ela não disse nada. Após alguns instantes, ele falou: – Em setembro passado, os comerciantes de Birmingham prometeram retirar de suas lojas os humilhantes cartazes de “Somente brancos”, e em troca Fred Shuttlesworth concordou em suspender os protestos. Nós mantivemos nossa promessa, mas os comerciantes não cumpriram a sua parte. Como tantas vezes acontece, nossas esperanças foram destroçadas. – Lamento – disse George. – Mas... King ignorou a interrupção: – A ação direta não violenta busca criar tamanha tensão e sentimento de crise que uma comunidade é forçada a enfrentar a questão e entabular uma negociação sincera. O senhor está me pedindo que dê a Boutwell tempo de mostrar qual é a sua verdadeira postura. Ele pode até ser menos brutal do que Connor, mas é um segregacionista decidido a manter o status quo. Precisa ser instigado a agir. A argumentação era tão racional que George não conseguiu nem fingir discordar, embora a probabilidade de conseguir fazer King mudar de ideia estivesse diminuindo rapidamente. – Nós nunca obtivemos nada no campo dos direitos civis sem pressão – continuou o reverendo. – Para falar francamente, George, eu nunca realizei nenhuma campanha que fosse “oportuna” para homens como Bobby Kennedy. Faz muitos anos que ouço a mesma coisa: “Espere.” A palavra ecoa em meus ouvidos com uma familiaridade estridente. Esse “Espere” significa “Nunca”. Já faz 340 anos que estamos esperando nossos direitos. As nações africanas estão avançando rumo à independência na mesma velocidade de um jato, mas nós ainda nos arrastamos a passo de mula para conseguir tomar uma xícara de café em um balcão de lanchonete. George percebeu que estava escutando o ensaio de um sermão, mas nem por isso seu fascínio diminuiu. Já tinha abandonado qualquer esperança de cumprir a missão que Bobby lhe confiara. – Nosso grande obstáculo na marcha rumo à liberdade não é o Conselho de Cidadãos Brancos nem o integrante da Ku Klux Klan. É, antes, o branco moderado para quem a ordem é mais importante do que a justiça e que vive dizendo, como Bobby Kennedy: “Eu concordo
com o objetivo que vocês estão buscando, mas não posso aprovar seus métodos.” Com uma visão paternalista, ele acredita poder criar um cronograma para a liberdade alheia. George então sentiu vergonha por estar ali como mensageiro de Bobby. – Nossa geração vai ter de se arrepender não apenas das palavras de ódio e das ações dos maus, mas do silêncio devastador dos bons – disse King, e George teve de conter as lágrimas. – A hora é sempre oportuna para fazer o que é certo. “Que a justiça flua feito água, e a retidão feito um riacho que nunca seca”, disse o profeta Amós. Pode dizer isso a Bobby Kennedy, George. – Direi, reverendo.
De volta a Washington, George ligou para Cindy Bell, a moça pela qual sua mãe havia tentado fazê-lo se interessar, e a convidou para sair. – Por que não? – respondeu ela. Seria seu primeiro encontro desde que terminara com Norine Latimer na esperança frustrada de namorar Maria Summers. No sábado seguinte, à tarde, pegou um táxi até a casa de Cindy. Ela ainda morava com os pais em uma pequena casa da classe operária. O pai veio abrir a porta. Tinha a barba cerrada, e George pensou que decerto um chefe de cozinha não precisava ter um aspecto lá muito asseado. – Prazer em conhecê-lo, George – disse ele. – Sua mãe é uma das melhores pessoas que já conheci. Espero que não se importe por eu fazer um comentário tão pessoal. – Obrigado, Sr. Bell. Eu concordo com o senhor. – Pode entrar, Cindy está quase pronta. George reparou em um pequeno crucifixo na parede do corredor e lembrou que a família Bell era católica. Recordou ter ouvido dizer, quando adolescente, que as garotas de escolas religiosas eram as mais safadas. Cindy apareceu usando um suéter justo e uma saia curta que fizeram seu pai franzir um pouco a testa, embora não tenha comentado nada. George teve de reprimir um sorriso. A moça tinha curvas e não queria escondê-las. Uma cruzinha de prata pendia de uma corrente entre seus seios fartos – para proteção, quem sabe? Ele lhe entregou uma pequena caixa de chocolates amarrada com uma fita azul. Fora da casa, ela arqueou as sobrancelhas ao ver o táxi. – Vou comprar um carro – disse ele. – Só não tive tempo ainda. A caminho do centro, Cindy falou: – Meu pai admira sua mãe por ter criado você sozinha tão bem. – E eles emprestam livros um ao outro. Sua mãe não acha ruim? Ela riu. Naturalmente, pensar que a geração de seus pais pudesse sentir ciúmes era cômico.
– Você é esperto. Mamãe sabe que não há nada entre eles, mas mesmo assim está atenta. George ficou feliz por ter chamado Cindy para sair. Ela era inteligente e simpática, e ele estava começando a imaginar como seria agradável beijá-la. A lembrança de Maria se apagou de sua mente. Foram a um restaurante italiano. Cindy confessou que adorava todo tipo de massa. Pediram um tagliatelle com cogumelos, depois escalopes de vitela ao molho de xerez. Apesar de ser formada na Universidade de Georgetown, ela lhe disse que estava trabalhando como secretária para um corretor de seguros negro. – Mesmo as garotas que fizeram faculdade continuam sendo contratadas como secretárias – comentou. – Eu gostaria de trabalhar para o governo. Sei que as pessoas acham isso chato, mas é Washington que comanda este país todo. Infelizmente, o governo em geral contrata brancos para os cargos mais importantes. – Verdade. – Como você conseguiu chegar aonde está? – Bobby Kennedy queria um rosto negro na equipe, para lhe dar credibilidade em relação aos direitos civis. – Quer dizer que você é um símbolo? – No começo era. Agora melhorou. Depois do jantar, foram assistir ao último filme de Hitchcock com Tippi Hedren e Rod Taylor, Os pássaros. Durante as cenas mais assustadoras, Cindy se agarrou a George de um jeito que ele achou delicioso. Na saída, eles discordaram amigavelmente sobre o final do filme. Cindy detestou. – Fiquei tão decepcionada! – disse ela. – Estava esperando uma explicação. – Nem tudo na vida tem explicação – comentou George, dando de ombros. – Tem, sim, mas às vezes a gente não sabe. Foram tomar uma saideira no bar do Hotel Fairfax. Ele pediu um uísque, ela, um daiquiri. O crucifixo de prata chamou a atenção de George. – É só uma joia ou algo mais? – perguntou ele. – Algo mais. Ele faz com que eu me sinta segura. – Segura... de alguma coisa específica? – Não. Só me protege de modo geral. George estranhou. – Você não acredita nisso, acredita? – Qual o problema? – Ahn... não quero ofender se estiver sendo sincera, mas me parece superstição. – Pensei que você fosse religioso. Você vai à igreja, não vai? – Acompanho minha mãe porque é importante para ela e eu a amo. Para deixá-la feliz, sou capaz de cantar hinos, ouvir rezas e escutar um sermão, mas tudo isso me parece apenas... uma bobagem.
– Você não acredita em Deus? – Acho que provavelmente deve existir alguma inteligência que controla o universo, um ser que decide as regras, como E=MC2 ou o valor de pi. Mas esse ser provavelmente não liga se nós o louvamos ou não. Duvido que as suas decisões possam ser manipuladas rezando para uma estátua da Virgem Maria, e não acredito que ele vá lhe dar algum tratamento especial só pelo que você usa pendurado no pescoço. – Ah. Ele viu que a havia chocado. Percebeu que tinha argumentado como durante uma reunião na Casa Branca, onde as questões eram importantes demais para alguém se importar com os sentimentos alheios. – Eu provavelmente não deveria ter sido tão direto – falou. – Está ofendida? – Não – respondeu ela. – Que bom que você me disse. – Ela terminou o drinque. George pôs o dinheiro sobre o balcão e desceu do banco. – Gostei de conversar com você – falou. – Bom filme, final decepcionante – comentou ela. Era um bom resumo da noite. Ela era simpática e bonita, mas ele não se via caindo de amores por uma mulher cujas crenças em relação ao universo eram tão diferentes das suas. Saíram e pegaram um táxi. No caminho de volta, George percebeu que no fundo não estava triste pelo fato de o encontro não ter dado certo. Ainda não tinha esquecido Maria por completo. Perguntou-se quanto tempo ainda precisaria para isso. Quando chegaram à casa de Cindy, ela falou: – Obrigada pela ótima noite. – Deu-lhe um beijo na bochecha e desceu. No dia seguinte, Bobby mandou George de volta ao Alabama.
Ao meio-dia de sexta-feira, 3 de maio de 1963, George e Verena estavam no Parque Kelly Ingram, no coração da parte negra de Birmingham. Do outro lado da rua ficava a famosa Igreja Batista da Rua 16, magnífico prédio bizantino de tijolos vermelhos projetado por um arquiteto negro. O parque estava coalhado de ativistas de direitos civis, observadores e pais ansiosos. Dava para ouvir a música dentro da igreja: “Ain’t Gonna Let Nobody Turn Me Round”. Mil secundaristas negros se preparavam para marchar. A leste do parque, as avenidas que conduziam ao centro estavam interditadas por centenas de policiais. Bull Connor havia requisitado ônibus escolares para levar os manifestantes até a prisão, e havia cães bravos para o caso de alguém resistir. Além da polícia, estavam presentes também bombeiros munidos de mangueiras. Não havia nenhum negro na polícia nem nos bombeiros. Os ativistas de direitos civis sempre pediam permissão para as passeatas, como mandava a
lei, mas a permissão era sempre negada. Quando faziam a passeata mesmo assim, eram detidos e presos. Por esse motivo, a maioria dos negros de Birmingham relutava em participar dos protestos, o que permitia ao governo integralmente branco da cidade alegar que o movimento de Martin Luther King tinha pouco apoio. O próprio King tinha sido preso exatamente três semanas antes, na Sexta-feira da Paixão. George ficara impressionado com a ignorância dos segregacionistas: será que eles por acaso não sabiam quem mais tinha sido preso naquela mesma sexta-feira? Por pura maldade, King fora posto na solitária. Só que a prisão do reverendo quase não saíra nos jornais. Um negro maltratado por exigir seus direitos de cidadão americano não era notícia. Em uma carta amplamente divulgada pela imprensa, ele foi criticado por religiosos brancos. Da prisão, escreveu uma resposta que chegava a fumegar de tanta retidão moral. Nenhum jornal noticiou a resposta, embora talvez ainda viesse a fazê-lo. De modo geral, a campanha tinha sido pouco noticiada. Os adolescentes negros de Birmingham estavam loucos para participar dos protestos e King acabara permitindo a participação dos secundaristas, mas nada mudara: Bull Connor simplesmente prendia as crianças e ninguém ligava. O som do canto dentro da igreja era emocionante, mas não bastava. Assim como a vida amorosa de George, a campanha de Martin Luther King em Birmingham não estava indo a lugar algum. Ele observou os bombeiros nas ruas a leste do parque. Eles agora tinham um novo tipo de arma, um implemento no qual a água parecia entrar por duas mangueiras e sair por uma só. Aquilo devia gerar um jato superpotente. O fato de estar montado sobre um tripé dava a entender que era potente demais para um homem segurar. George ficou feliz por ser apenas um observador, e não um participante do protesto. Desconfiava que aquele jato faria mais do que encharcar as pessoas. As portas da igreja se abriram de supetão e um grupo de secundaristas irrompeu pelos três arcos ainda cantando. Eles estavam vestidos com suas melhores roupas de domingo. Desceram o comprido e largo lance de escada até a rua. Eram uns sessenta, mas George sabia que constituíam apenas a primeira parte: centenas de outros aguardavam lá dentro. A maioria estava no último ano do ginásio, e havia alguns alunos mais novos. George e Verena os seguiram de longe. A multidão que assistia do parque assobiou e aplaudiu ao vê-los desfilar pela Rua 16, passando diante de lojas e empresas cujos donos eram, em sua maioria, negros. Viraram na Quinta Avenida e chegaram à esquina da Rua 17, onde seu caminho foi interrompido pelas barricadas da polícia. Um capitão falou em um megafone: – Dispersem, saiam da rua! – Apontou para os bombeiros mais atrás. – Senão vão se molhar! Em ocasiões anteriores, a polícia simplesmente reunira os manifestantes em caminhonetes
e ônibus e os levara para a prisão. Mas agora George sabia que as cadeias estavam superlotadas e que Bull Connor queria minimizar as prisões; preferiria que voltassem todos para casa. Só que isso era a última coisa que aqueles estudantes iriam fazer. Os sessenta jovens ficaram em pé no meio da rua, em frente às autoridades brancas reunidas, cantando a plenos pulmões. O capitão de polícia fez um gesto para os bombeiros, que ligaram a mangueira. George reparou que estavam usando mangueiras normais, não o canhão d’água montado no tripé. Mesmo assim, o jato empurrou a maior parte dos manifestantes para trás, e fez observadores saírem correndo pelo parque para se abrigarem em vãos de porta. Pelo alto-falante, o capitão repetia: – Evacuem a área! Evacuem a área! A maioria dos manifestantes recuou, mas não todos. Dez simplesmente sentaram no chão. Já encharcados até os ossos, ignoraram as mangueiras e continuaram cantando. Foi então que os bombeiros acionaram o canhão d’água. O efeito foi instantâneo. Em vez de um jorro desagradável, porém inofensivo, os estudantes sentados foram atingidos por um jato de alta potência. Jogados para trás, gritaram de dor. Seu canto se transformou em berros de medo. A menor do grupo era uma garotinha, que a água levantou do chão e arremessou para trás. Ela rolou pela rua feito uma folha soprada, impotente, agitando braços e pernas. As pessoas em volta começaram a gritar e xingar. George soltou um palavrão e correu para a rua. Os bombeiros insistiram em mirar na menina a mangueira montada no tripé, impedindo-a de escapar de sua força. Estavam tentando levá-la para longe, como se ela fosse lixo. George foi o primeiro de vários homens a alcançá-la. Postou-se entre ela e a mangueira, de costas para o jato. Foi como levar um soco. A água o fez cair de joelhos, mas a menina, agora protegida, levantou-se e saiu correndo em direção ao parque. Só que a mangueira foi atrás e a derrubou no chão outra vez. George ficou furioso. Os bombeiros pareciam cães de caça derrubando um filhote de cervo. Gritos de protesto dos observadores lhe informaram que eles também estavam indignados. Ele saiu correndo atrás da menina e tornou a protegê-la. Dessa vez estava preparado para o impacto do jato, e conseguiu manter o equilíbrio. Ajoelhou-se para pegá-la no colo. Seu vestido de missa cor-de-rosa estava todo encharcado. Carregando-a nos braços, George cambaleou em direção à calçada. Os bombeiros o perseguiram com o jato, tentando derrubá-lo outra vez, mas ele conseguiu se manter em pé por tempo suficiente para chegar ao outro lado de um carro estacionado. Pôs a menina no chão. Aterrorizada, ela não parava de gritar.
– Tudo bem, você está segura agora – falou, mas ela não se deixou consolar. Então uma mulher aflitíssima chegou correndo e a pegou no colo. A menina se agarrou à mulher, e George calculou que fosse sua mãe. Aos prantos, a mulher a levou embora. Ferido e ensopado, George se virou para ver o que estava acontecendo. Todos os manifestantes eram treinados em protestos não violentos, mas os observadores furiosos, não, e ele viu que estes agora retaliavam jogando pedras nos bombeiros. Aquilo estava se transformando em um motim. Ele não conseguiu localizar Verena. Policiais e bombeiros avançavam pela Quinta Avenida tentando dispersar a multidão, mas seu avanço era impedido pelos objetos atirados. Vários homens entraram nos prédios do lado sul da rua e começaram a bombardear a polícia das janelas dos andares superiores com pedras, garrafas e lixo. George se afastou da confusão depressa. Parou na esquina seguinte, em frente ao restaurante Jack Boy, e ficou ali junto com um pequeno grupo de jornalistas e observadores, tanto negros quanto brancos. Ao olhar para o norte, viu outros jovens manifestantes saírem da igreja e pegarem ruas diferentes em direção ao sul para evitar a violência. Aquilo criaria um problema para Bull Connor, pois o obrigaria a dividir suas forças. Connor reagiu mandando soltar os cachorros. Os bichos saíram das caminhonetes rosnando, mostrando os dentes, puxando as guias de couro. Os homens que os conduziam pareciam igualmente cruéis: brancos parrudos, com quepes da polícia e óculos escuros. Tanto os cães quanto eles eram animais loucos para atacar. Policiais e cachorros avançaram em bando. Manifestantes e observadores tentaram fugir, mas a multidão na rua agora estava compacta e muitas pessoas não conseguiram se afastar. Histéricos de tanta excitação, os cães abocanhavam, mordiam e tiravam sangue das pernas e dos braços das pessoas. Algumas, perseguidas pela polícia, fugiram para oeste em direção às profundezas do bairro negro. Outras buscaram abrigo na igreja. George viu que nenhum outro manifestante emergia mais dos três arcos: o protesto ia chegando ao fim. Mas a polícia ainda não estava satisfeita. Surgidos do nada, dois policiais com cães apareceram ao lado de George. Um deles agarrou um adolescente negro alto, no qual George havia reparado por estar usando um cardigã de aspecto caro. O rapaz devia ter uns 15 anos, e sua única participação no protesto fora como observador. Mesmo assim, os policiais o fizeram se virar, e o cachorro deu um pulo e cravou os dentes no tronco do rapaz, que soltou um grito de medo e de dor. Um dos jornalistas tirou uma foto. George estava prestes a intervir quando o policial puxou o cachorro, depois prendeu o rapaz por desfilar sem autorização. George reparou em um branco barrigudo de camisa e sem paletó assistindo à prisão.
Reconheceu Bull Connor das fotos que vira nos jornais. – Por que você não trouxe um cachorro mais bravo? – perguntou Connor ao policial que efetuava a prisão. George teve ganas de repreendê-lo. Ele teoricamente era o comissário de Segurança Pública, mas estava agindo como um arruaceiro. Entendeu, porém, que ele próprio corria o risco de ser preso, sobretudo agora que seu terno elegante havia se transformando em um trapo encharcado. Bobby Kennedy não ficaria nada contente se ele fosse parar na cadeia. Com esforço, reprimiu a raiva que sentia, fechou a boca, virou-se e voltou a pé depressa para o Gaston. Felizmente, tinha levado outra calça na mala. Tomou uma chuveirada, vestiu roupas secas e mandou o terno para a tinturaria. Ligou para o Departamento de Justiça e ditou a uma secretária seu relatório sobre os acontecimentos do dia para o chefe. Fez um relato seco, sem emoção, e omitiu o fato de ter sido atingido pela mangueira. Tornou a encontrar Verena no lobby do hotel. Ela havia escapado ilesa, mas parecia abalada. – Eles podem fazer o que quiserem conosco! – exclamou, e sua voz tinha um quê de histeria. George pensava a mesma coisa, mas para ela era pior. Ao contrário dele, Verena não tinha participado da Viagem da Liberdade, e ele calculou que aquela fosse a primeira vez que via o ódio racial manifestado em todo seu horror e crueza. – Me deixe pagar um drinque para você – falou, e os dois foram até o bar. George passou a hora seguinte tentando acalmá-la. O que mais fez foi escutar; de vez em quando, fazia algum comentário compreensivo ou reconfortante e, acalmando a si mesmo, ajudou-a a se acalmar. O esforço serviu para controlar seu próprio arrebatamento. Os dois jantaram juntos tranquilamente no restaurante do hotel. Quando subiram, havia acabado de escurecer, e no corredor Verena disse: – Quer ir para o meu quarto? George ficou surpreso. A noite não tinha sido sensual nem romântica, e ele não havia considerado aquilo um encontro. Eles eram só dois ativistas consolando um ao outro. A moça percebeu sua hesitação. – Só queria alguém para me abraçar. Tudo bem? Apesar de não ter certeza se tinha entendido, ele assentiu. A imagem de Maria surgiu em sua mente. Ele a reprimiu. Estava na hora de esquecê-la. Uma vez no quarto, Verena fechou a porta e lhe deu um abraço. Ele apertou o corpo dela junto ao seu e a beijou na testa. Ela virou o rosto e encostou a bochecha no seu ombro. Está bem, pensou ele; você quer abraçar, mas não quer beijar. Decidiu simplesmente deixá-la tomar a iniciativa. O que ela quisesse por ele estaria bom. Um minuto depois, ela disse:
– Não quero dormir sozinha. – Ok – respondeu ele, neutro. – A gente pode ficar só abraçado? – Pode – disse ele, embora não acreditasse que era isso que iria acontecer. Ela se afastou do abraço. Então, com gestos rápidos, tirou os sapatos e puxou o vestido por cima da cabeça. Estava de calcinha e sutiã brancos. George ficou encarando aquela pele perfeita, lisinha. Ela tirou a roupa de baixo em poucos segundos. Tinha seios pequenos e firmes, com mamilos pequeninos. Seus pelos pubianos tinham reflexos ruivos. Era de longe a mulher mais linda que George já vira nua. Ele viu isso tudo de relance, porque ela entrou na cama imediatamente. George se virou e tirou a camisa. – Suas costas! – exclamou ela. – Ai, meu Deus! Que horror! Ele estava dolorido nos pontos em que fora atingido pela mangueira, mas não lhe ocorrera que o estrago pudesse ser visível. Ficou de costas para o espelho ao lado da porta e olhou por cima do ombro. Então entendeu a reação de Verena: suas costas estavam cobertas de hematomas roxos. Tirou os sapatos e as meias devagar. Seu pau ficou duro e ele torceu para a ereção ir embora, mas não foi; era mais forte do que ele. Levantou-se, tirou a calça e a cueca e entrou na cama tão depressa quanto ela havia entrado. Abraçaram-se. Seu pau duro encostou na barriga de Verena, mas ela não reagiu. Ele podia sentir os cabelos dela fazerem cócegas em seu pescoço e os seios espremidos contra seu peito. Apesar de muito excitado, seu instinto lhe disse para não fazer nada, e ele obedeceu. Verena começou a chorar. No início foram só uns gemidinhos, que George não soube ao certo se tinham conotação sexual. Então sentiu no peito as lágrimas mornas, e os soluços começaram a sacudir o corpo dela. Ele afagou suas costas com o gesto universal de quem reconforta. Parte de sua mente se maravilhou com o que estava acontecendo. Ali estava ele na cama com uma mulher linda, nu, e tudo o que conseguia fazer era afagar suas costas. Em um nível mais profundo, porém, aquilo fazia sentido. George teve a vaga mas segura sensação de que os dois estavam compartilhando um tipo de reconforto mais forte do que o sexo. Estavam ambos tomados por uma intensa emoção, muito embora ele não soubesse que nome lhe dar. Aos poucos, os soluços de Verena foram diminuindo. Depois de algum tempo, seu corpo relaxou, a respiração se tornou regular e rasa, e ela se entregou ao sono. A ereção de George passou. Ele fechou os olhos e se concentrou no calor do corpo dela junto ao seu e no leve aroma feminino irradiado por sua pele e seus cabelos. Com uma mulher daquela nos braços, tinha certeza de que não conseguiria dormir. Mas conseguiu. De manhã, quando acordou, ela já tinha ido embora.
Naquele sábado de manhã, Maria Summers foi trabalhar tomada pelo pessimismo. Enquanto Martin Luther King estava preso no Alabama, a Comissão de Direitos Civis tinha elaborado um relatório chocante sobre os abusos perpetrados contra os negros no Mississippi. Espertamente, porém, o governo Kennedy minimizou o relatório. Um advogado do Departamento de Justiça chamado Burke Marshall escreveu um memorando contrariando as afirmações do relatório; Pierre Salinger, chefe de Maria, tachou suas propostas de extremistas; e a imprensa americana se deixou enganar. E quem estava no comando de tudo aquilo era o homem que Maria amava. Ela acreditava que Jack Kennedy tinha bom coração, mas ele não tirava o olho da próxima eleição. Saíra-se bem nas legislativas do ano anterior: sua forma tranquila de lidar com a crise dos mísseis em Cuba lhe valera popularidade e a lavada republicana prevista fora evitada. Agora, porém, ele estava preocupado com a reeleição no ano seguinte. Não gostava dos segregacionistas do Sul, mas não estava disposto a se sacrificar brigando com eles. Assim, a campanha pelos direitos civis estava perdendo fôlego. O irmão de Maria tinha quatro filhos dos quais ela gostava muito. Quando crescessem, esses sobrinhos, bem como os filhos que ela ainda pudesse vir a ter, virariam cidadãos americanos de segunda categoria. Se fossem ao Sul, teriam dificuldade para encontrar um hotel que os aceitasse. Se entrassem em uma igreja de brancos, seriam convidados a se retirar, a não ser que o pastor fosse liberal e os direcionasse aos bancos somente para negros, numa área especial e isolada. Veriam placas de SÓ BRANCOS nos banheiros públicos, e outras instruindo quem fosse NEGRO a usar um balde no quintal. Perguntariam por que não havia nenhum negro na televisão, e seus pais não saberiam responder. Chegando ao escritório, ela viu os jornais. A manchete do The New York Times estampava uma foto de Birmingham que a fez arquejar, horrorizada. Na imagem, um policial branco segurava na coleira um pastor alemão feroz que mordia um adolescente negro de aspecto inofensivo, enquanto com a outra mão agarrava o menino pelo cardigã. O homem tinha os dentes arreganhados em um esgar ávido e mau, como se também quisesse morder alguém. Nelly Fordham ouviu Maria arquejar e ergueu os olhos do Washington Post. – Horrível, né? – comentou. Muitos outros jornais dos Estados Unidos estampavam a mesma foto na capa, bem como as edições dos jornais estrangeiros que chegavam por via aérea. Maria sentou-se à sua mesa e começou a ler. Constatou com uma centelha de esperança que o tom havia mudado. Não era mais possível para a imprensa apontar o dedo para Martin Luther King e dizer que a sua campanha era inoportuna e que os negros deveriam ter paciência. A história havia mudado graças à química irrefreável da cobertura midiática, processo misterioso que ela aprendera a respeitar e temer. Sua animação aumentou quando começou a desconfiar que os sulistas brancos tinham ido
longe demais. A imprensa agora falava em violência contra crianças nas ruas do país. Ainda citavam pessoas para quem tudo era culpa de King e de seus agitadores, mas o costumeiro tom desdenhoso e confiante dos segregacionistas tinha desaparecido, substituído por um certo quê de negação desesperada. Será que uma foto era capaz de mudar tudo? Salinger entrou na sala. – Pessoal – disse ele. – O presidente leu os jornais de hoje, viu as fotos de Birmingham e ficou nauseado. Ele quer que a imprensa saiba disso. Não é um pronunciamento oficial, só uma declaração informal. A palavra-chave é “nauseado”. Por favor, comecem a divulgar agora mesmo. Maria olhou para Nelly, e ambas ergueram as sobrancelhas. Aquilo era uma mudança. Maria pegou o telefone.
Na segunda-feira de manhã, George se movimentava feito um velho, cautelosamente, tentando minimizar as pontadas de dor. Segundo os jornais, o canhão d’água do Corpo de Bombeiros de Birmingham tinha uma pressão de 18 quilos por centímetro quadrado, e ele estava sentindo todos esses quilos em cada centímetro das próprias costas. Não era o único ferido nessa segunda de manhã. Centenas de manifestantes estavam machucados. Alguns tinham levado mordidas tão feias que precisaram de pontos. Milhares de secundaristas continuavam na prisão. George torceu para que o seu sofrimento se mostrasse útil. Agora havia esperança. Os ricos negociantes brancos de Birmingham queriam o fim do conflito. Ninguém comprava mais nada: a eficácia do boicote às lojas do centro pelos negros fora intensificada pelo temor dos brancos de que eles se envolvessem em algum motim. Mesmo os irredutíveis donos de usinas siderúrgicas sentiam que seus negócios estavam sendo prejudicados pela reputação da cidade como capital mundial do racismo violento. A Casa Branca, por sua vez, estava detestando as manchetes que não paravam de ser publicadas mundo afora. Os jornais estrangeiros, que consideravam o direito dos negros à justiça e à democracia uma coisa natural, não entendiam por que o presidente americano parecia incapaz de aplicar suas próprias leis. Bobby Kennedy despachou Burke Marshall para tentar fazer um acordo com as principais lideranças dos moradores de Birmingham. O assessor de Marshall era Dennis Wilson. George não confiava em nenhum dos dois. Marshall havia minado o relatório da Comissão de Direitos Civis com contestações jurídicas, e Dennis sempre tivera inveja de George. Como a elite branca de Birmingham se recusava a negociar diretamente com Martin Luther King, Dennis e George precisavam agir como intermediários, e Verena representaria King. Burke Marshall queria que o reverendo cancelasse o protesto de segunda-feira. – E reduzir a pressão justo quando estamos conquistando a vantagem? – indagou Verena a
Wilson, incrédula, no luxuoso lobby do Motel Gaston. George concordou com um meneio de cabeça. – De todo modo, a administração municipal não pode fazer nada agora – reagiu Dennis. A prefeitura estava passando por uma crise distinta, embora relacionada: Bull Connor havia recorrido juridicamente contestando sua derrota na eleição, de modo que havia dois homens alegando ser o prefeito. – Quer dizer então que eles estão divididos e enfraquecidos... Ótimo! Se esperarmos até resolverem suas diferenças, eles vão voltar mais fortes e mais determinados. Vocês na Casa Branca não entendem nada de política? Dennis tentou fazer parecer que os ativistas de direitos civis eram confusos em relação às próprias demandas, o que também deixou Verena furiosa. – Temos quatro demandas simples – disse ela. – Um: fim imediato da segregação em lanchonetes, banheiros, bebedouros, e todos os equipamentos dos estabelecimentos comerciais. Dois: contratação e promoção não discriminatória de funcionários negros nas lojas. Três: todos os manifestantes devem ser soltos, e as acusações contra eles, retiradas. Quatro: no futuro, será formado um comitê birracial para negociar o fim da segregação na polícia, nas escolas, nos parques, cinemas e hotéis. – Ela olhou para um Dennis irado. – O que há de confuso nisso? King estava pedindo coisas que deveriam ter sido naturais, mas mesmo assim eram demais para os brancos. Nessa noite, Dennis voltou ao Gaston para comunicar as contrapropostas a George e Verena. Os donos das lojas estavam dispostos a acabar com a segregação nos provadores e em outros equipamentos após um prazo determinado. Cinco ou seis funcionários negros poderiam ser promovidos a “cargos de gravata” assim que as manifestações terminassem. Quanto às pessoas presas, os comerciantes nada podiam fazer, pois aquela era uma questão para os tribunais. A segregação nas escolas e em outros equipamentos municipais deveria ser negociada com o prefeito e o conselho municipal. George ficou contente. Pela primeira vez, os brancos estavam negociando! Verena, porém, desdenhou a proposta: – Isso não é nada. Eles nunca pedem para duas mulheres dividirem o mesmo provador, de modo que os provadores não chegam a ser segregados. E Birmingham tem mais de cinco negros que sabem dar nó em uma gravata. Quanto ao resto... – Eles disseram que não têm poder para reverter as decisões dos tribunais ou mudar as leis. – Por acaso você é ingênuo? – rebateu ela. – Nesta cidade, os tribunais e o conselho municipal são teleguiados pelos negociantes. Bobby Kennedy pediu a George para elaborar uma lista com os nomes e telefones dos mais influentes negociantes da cidade. O presidente lhes telefonaria pessoalmente e diria que eles precisavam ceder e chegar a um meio-termo. George constatou outros sinais animadores. Grandes reuniões realizadas nas igrejas de
Birmingham na segunda-feira arrecadaram espantosos 40 mil dólares em doações para a campanha; o pessoal de King passou a maior parte da noite contando o dinheiro em um quarto de hotel alugado para esse fim. Mais dinheiro ainda estava chegando pelo correio. O movimento em geral vivia com dinheiro contado, mas Bull Connor e seus cachorros tinham causado uma senhora bonança. Verena e o resto do pessoal de King se acomodaram para uma reunião noturna na saleta da suíte do reverendo, para debater como manter a pressão. Como não fora convidado – e não queria ouvir coisas que pudesse se sentir na obrigação de contar a Bobby –, George se recolheu. Pela manhã, às dez, vestiu o terno e desceu para a coletiva de imprensa de King. Encontrou o pátio do hotel abarrotado com mais de uma centena de jornalistas do mundo inteiro, suando sob o sol do Alabama. A campanha de King em Birmingham era uma notícia quente, novamente graças a Bull Connor. – Os acontecimentos em Birmingham nos últimos dias assinalam a maturidade do movimento de não violência – afirmou King. – É a realização de um sonho. George não viu Verena em lugar nenhum, e começou a desconfiar que o mais importante estava acontecendo em algum outro lugar. Saiu do motel e dobrou a esquina até a igreja. Não achou Verena, mas reparou em alunos de escola saindo do subsolo e entrando em carros estacionados na Quinta Avenida. Sentiu que os adultos que os supervisionavam exibiam uma descontração fingida. Esbarrou em Dennis Wilson, que trazia novidades: – O Comitê de Cidadãos Seniores está fazendo uma reunião de emergência na Câmara de Comércio. George já tinha ouvido falar nesse grupo extraoficial, cujo apelido era Grandes Mulas. Eram os homens que detinham o verdadeiro poder na cidade. Se eles estavam entrando em pânico, algo teria de mudar. – O que o pessoal de King está planejando? – indagou Dennis. George ficou aliviado por não saber. – Não fui convidado para a reunião – respondeu. – Mas eles bolaram alguma coisa. Separou-se de Dennis e foi a pé até o centro. Mesmo passeando sozinho, sabia que poderia ser preso por desfilar sem autorização, mas tinha de correr esse risco: não teria utilidade nenhuma para Bobby se ficasse entocado no Gaston. Em dez minutos, chegou ao bairro comercial tipicamente sulista de Birmingham: lojas de departamentos, cinemas, prédios administrativos e uma via férrea correndo pelo meio. Só entendeu qual era o plano de King quando o viu ser posto em ação. De repente, negros que caminhavam sozinhos ou em grupos de dois ou três começaram a se reunir e a brandir cartazes que até então tinham mantido escondidos. Alguns se sentaram, interditando a calçada, enquanto outros se ajoelharam para rezar nos degraus da imensa sede art déco da prefeitura. Filas de adolescentes entravam e saíam cantando de lojas segregadas.
O tráfego parou quase por completo. Os policiais foram pegos desprevenidos: estavam concentrados em volta do Parque Kelly Ingram, a quase um quilômetro dali, e os manifestantes os haviam surpreendido. Mas George teve certeza de que aquela atmosfera de manifestação bem-humorada só iria durar enquanto Bull Connor permanecesse desestabilizado. Quando a manhã foi se transformando em tarde, ele voltou ao Gaston. Encontrou Verena com uma cara preocupada. – Isso que está acontecendo é ótimo, mas está fora de controle – disse ela. – Nosso pessoal tem treinamento em protestos não violentos, mas milhares de outras pessoas estão simplesmente se juntando às manifestações, e não têm a menor disciplina. – A pressão nas Grandes Mulas está aumentando – comentou George. – Mas não queremos que o governo baixe uma lei marcial. O Alabama era governado por George Wallace, um segregacionista ferrenho. – Lei marcial significa controle federal – assinalou George. – E nesse caso o presidente teria de ordenar uma integração ao menos parcial. – Se as Grandes Mulas forem forçadas a tomar essa decisão por alguém de fora, vão dar um jeito de não acatá-la. É melhor a decisão ser deles. George estava vendo que Verena tinha um raciocínio político sutil; sem dúvida devia ter aprendido muito com King. Mas ficou em dúvida se ela estava certa em relação àquela questão. Comeu um sanduíche de presunto e tornou a sair. A atmosfera ao redor do Parque Kelly Ingram estava mais tensa agora. Lá dentro, centenas de policiais balançavam cassetetes e seguravam cães nervosos. Bombeiros usavam mangueiras em qualquer um que estivesse indo para o centro. Atacados pelos jatos, os negros começaram a jogar pedras e garrafas de CocaCola na polícia. Verena e outros integrantes da equipe de King percorriam a multidão implorando para as pessoas manterem a calma e evitarem a violência, mas não adiantou quase nada. Um estranho veículo branco conhecido como Tanque subia e descia a Rua 16, e Bull Connor gritava em um megafone: – Dispersem! Saiam das ruas! George ficara sabendo que aquilo não era um tanque, e sim um blindado do Exército comprado por Connor. Viu Fred Shuttlesworth, rival de King na liderança da campanha, um homem nervoso de 41 anos que exibia um aspecto duro, roupas elegantes e um bigode bem aparado. Shuttlesworth havia sobrevivido a dois atentados a bomba e sua mulher fora esfaqueada por um membro da Ku Klux Klan, mas ele parecia não ter medo algum e se recusava a sair da cidade. “Não fui salvo para fugir”, gostava de dizer. Embora fosse um lutador nato, estava agora tentando reunir alguns dos jovens. – Não provoquem a polícia – orientava ele. – Não ajam como se estivessem pretendendo atacá-la.
Um bom conselho, pensou George. Crianças se reuniram em volta de Shuttlesworth e, qual o Flautista de Hamelin, ele as conduziu de volta até sua igreja, acenando no ar com um lencinho branco na tentativa de mostrar à polícia que sua intenção era pacífica. Quase funcionou. Shuttlesworth fez as crianças passarem em frente aos caminhões de bombeiros diante da igreja até chegarem à entrada do subsolo, que ficava no mesmo nível da rua, e por ali as fez entrar e descer a escada. Quando todas já tinham entrado, virou-se para segui-las. Foi nessa hora que George ouviu uma voz gritar: – Vamos jogar uma água no reverendo. Com a testa franzida, Shuttlesworth se virou. O jato de um canhão d’água o atingiu em cheio no peito. Ele cambaleou e caiu para trás, despencando escada abaixo com alarde e um urro de dor. – Ai, meu Deus! – gritou alguém. – Acertaram Shuttlesworth! George entrou correndo. O reverendo estava ao pé da escada, arquejando. – Está tudo bem?! – gritou George, mas o outro não conseguiu responder. – Alguém chame uma ambulância, depressa! Ficou pasmo que as autoridades tivessem sido tão burras. Shuttlesworth era um homem muito popular. Será que eles queriam provocar um motim? Havia ambulâncias por perto e foi preciso apenas um ou dois minutos para dois homens entrarem com uma maca e levarem o reverendo embora. George subiu atrás deles até a calçada. Observadores negros e policiais brancos se aglomeravam perigosamente. Jornalistas também haviam se juntado, e fotógrafos de imprensa tiravam fotos enquanto a maca era colocada na ambulância. Todos observaram o veículo ir embora. Instantes depois, Bull Connor apareceu. – Esperei uma semana para ver Shuttlesworth ser atingido por uma mangueira – disse ele, animado. – Que pena ter perdido essa cena. George ficou uma fera. Torceu para um dos observadores dar um soco na cara gorda de Connor. – Ele foi embora de ambulância – falou um jornalista branco. – Quem dera tivesse sido de rabecão – comentou Connor. George teve de virar as costas para conter a própria fúria. Foi salvo por Dennis Wilson, que surgiu do nada e o segurou pelo braço. – Boas notícias! – exclamou ele. – As Grandes Mulas cederam! George se virou. – Como assim, cederam? – Formaram um comitê para negociar com os ativistas! Era mesmo uma boa notícia. Algo os tinha feito mudar de ideia: as manifestações, os
telefonemas do presidente, ou então a ameaça de lei marcial. Fosse qual fosse o motivo, eles estavam agora desesperados o suficiente para se sentar com os negros e conversar sobre uma trégua. Talvez esta pudesse ser negociada antes de os motins se tornarem seriamente violentos. – Mas eles precisam de um lugar para se reunir – acrescentou Dennis. – Verena deve saber de algum. Vamos procurá-la. George se virou para ir embora, então parou, girou nos calcanhares e olhou para Bull Connor. Viu que ele estava se tornando irrelevante. Connor estava nas ruas, vaiando os ativistas de direitos civis, mas na Câmara de Comércio os figurões mais poderosos da cidade haviam modificado o curso – e sem consultá-lo. Talvez o dia em que os brancos truculentos não mais governariam o Sul estivesse chegando. Ou talvez não.
O acordo foi anunciado na coletiva de imprensa de sexta-feira. Fred Shuttlesworth compareceu, com algumas costelas quebradas por causa do canhão d’água, e anunciou: – Birmingham hoje chegou a um acordo com sua consciência! Pouco depois, desmaiou e teve de ser levado embora carregado. Martin Luther King declarou vitória e pegou um avião de volta para Atlanta. A elite branca de Birmingham finalmente havia concordado com certo nível de dessegregação. Verena reclamou que não era grande coisa, e de certa forma tinha razão: as concessões eram mínimas. Na opinião de George, contudo, houvera uma grande mudança de princípios: os brancos tinham aceitado que precisavam negociar com os negros sobre segregação. Não podiam mais simplesmente impor a lei. As negociações iriam prosseguir, e só poderiam avançar em uma direção. Quer aquilo fosse um pequeno avanço ou um importante divisor de águas, todas as pessoas de cor de Birmingham comemoraram no domingo à noite, e Verena convidou George para ir ao seu quarto de hotel. Ele logo descobriu que ela não era uma daquelas moças que gostava que o homem assumisse o comando na cama. Sabia o que queria, e não tinha vergonha de pedir. Para George, não havia problema algum. Quase qualquer coisa o teria deixado contente. Ele estava encantado com aquele corpo lindo de pele clara e aqueles olhos verdes sedutores. Ela falou bastante durante a transa, dizendo-lhe o que estava sentindo, perguntando se tal coisa lhe agradava ou o deixava constrangido, e as palavras intensificaram sua intimidade. Ele percebeu, com mais força do que nunca, como o sexo podia ser um jeito de conhecer o temperamento da outra pessoa tanto quanto seu corpo. Perto do fim, ela quis ficar por cima. Mais uma novidade: nenhuma mulher tinha feito aquilo com ele antes. Ela se ajoelhou com uma perna de cada lado de seu corpo, ele a segurou
pelos quadris, e os dois começaram a se movimentar no mesmo ritmo. Ela fechou os olhos, mas ele, não. Ficou olhando para seu rosto, fascinado, vidrado, e quando ela finalmente chegou ao clímax ele também gozou. Alguns minutos antes da meia-noite, enquanto Verena estava no banheiro, George se postou junto à janela, de roupão, e ficou olhando as luzes da Quinta Avenida. Tornou a pensar no acordo de direitos civis que King tinha feito com os brancos de Birmingham. Se aquilo era um triunfo para o movimento em defesa dos direitos civis, os segregacionistas aguerridos jamais aceitariam uma derrota, supunha ele. Mas como será que iriam reagir? Bull Connor sem dúvida devia ter um plano para sabotar o acordo. Provavelmente o governador racista George Wallace também tinha o seu. Naquele dia, a Ku Klux Klan tinha feito um comício em Bessemer, pequena cidade a 30 quilômetros de Birmingham. Segundo as informações de inteligência obtidas por Bobby Kennedy, o encontro reunira segregacionistas da Geórgia, do Tennessee, da Carolina do Sul e do Mississippi. Sem dúvida os oradores tinham passado a noite inteira instigando aquelas pessoas a um frenesi de indignação pelo fato de Birmingham ter capitulado diante dos negros. Àquela altura, mulheres e crianças já deviam ter ido para casa, mas os homens deviam ter começado a beber e a se gabar uns com os outros em relação ao que iriam fazer. O dia seguinte, 12 de maio, era Dia das Mães. George se lembrou da mesma data dois anos antes, quando os brancos tinham tentado matar a ele e a outros Viajantes da Liberdade jogando bombas caseiras em seu ônibus em Anniston, a 100 quilômetros dali. Verena saiu do banheiro. – Volte para a cama – falou, enfiando-se sob os lençóis. Vontade não faltava a George; esperava que os dois transassem no mínimo mais uma vez antes de o dia amanhecer. No entanto, bem na hora em que ia virar as costas para a janela, alguma coisa atraiu seu olhar. Os faróis de dois carros vieram chegando pela Quinta Avenida. O primeiro era uma viatura branca do Departamento de Polícia de Birmingham na qual se podia distinguir claramente o número 25. Logo atrás vinha um velho Chevrolet de frente arredondada do início dos anos 1950. Ambos diminuíram a velocidade ao chegarem à altura do Gaston. De repente, George reparou que os policiais e agentes da polícia estadual que antes patrulhavam as ruas em torno do motel tinham sumido. A calçada estava deserta. O que estava acontecendo ali? Um segundo depois, algo foi atirado na calçada da janela traseira aberta do Chevrolet, indo parar junto à parede do motel. O objeto aterrissou bem debaixo das janelas do quarto 300, a suíte no canto que fora ocupada por Martin Luther King até ele deixar a cidade mais cedo. Então os dois carros aceleraram. George virou as costas para a janela, atravessou o quarto em dois passos largos e se jogou em cima de Verena.
Ela estava começando a protestar quando seu grito foi engolido por um imenso estrondo. O prédio inteiro sacudiu, como se estivesse havendo um terremoto. O ar foi tomado pelo barulho de vidro estilhaçando e pelo rumor de alvenaria desabando. A janela do quarto se espatifou com um tilintar que parecia as sinetas da morte. Fez-se um sinistro instante de silêncio. Enquanto o barulho dos dois carros ia diminuindo, George ouviu gritos e lamentos vindos de dentro do prédio. – Tudo bem com você? – perguntou a Verena. – Que porra foi essa? – Alguém atirou uma bomba de um carro. – Ele franziu a testa. – O carro estava escoltado por uma viatura da polícia. Dá para acreditar? – Nesta porcaria de cidade? Dá, sim. Fácil. George rolou para sair de cima dela e olhou para o quarto em volta. O chão estava totalmente tomado por vidro quebrado. Um pedaço de tecido verde cobria o pé da cama, e após alguns instantes ele percebeu que era a cortina. Um retrato de Roosevelt arrancado da parede pela força da explosão estava caído no tapete, com a foto virada para cima e o sorriso do presidente coberto por vidro quebrado. – Temos que descer – disse Verena. – Talvez tenha gente ferida. – Espere um instante. Vou pegar seus sapatos. – George pousou o pé sobre um pedaço limpo do carpete. Para atravessar o quarto, teve de ir catando cacos de vidro e jogando para o lado. Seus sapatos e os de Verena estavam lado a lado no armário: ele gostou de ver isso. Calçou seus oxfords de couro preto, depois pegou os sapatos brancos de salto gatinha de Verena e os levou até ela. A energia caiu. Ambos se vestiram depressa, no escuro. Descobriram que o banheiro estava sem água. Desceram até o térreo. O lobby às escuras estava cheio de funcionários e hóspedes, todos em pânico. Várias pessoas sangravam, mas não parecia haver vítimas fatais. George abriu caminho até lá fora. À luz dos postes de rua, viu um rombo de um metro e meio na parede do prédio e um monte de entulho na calçada. Trailers estacionados no terreno ao lado tinham sido destruídos pela força da bomba, mas por milagre ninguém ficara ferido. Um policial chegou com um cachorro, seguido logo depois por uma ambulância e outros policiais. Ameaçadoramente, grupos de negros começaram a se reunir em frente ao motel e no Parque Kelly Ingram, no quarteirão seguinte. Aqueles não eram os cristãos não violentos que tinham saído em marcha alegremente da Igreja Batista da Rua 16 cantando hinos, observou George, aflito. Eram homens que tinham passado a noite de sábado bebendo em bares, casas de sinuca e arrasta-pés, e que não abraçavam a filosofia gandhiana de resistência passiva defendida pelo reverendo King. Alguém disse que houvera outra bomba, a alguns quarteirões dali, na residência paroquial ocupada pelo irmão de Martin Luther King, Alfred, conhecido como A. D. King. Uma
testemunha ocular tinha visto um policial uniformizado depositar um embrulho em frente à porta da casa poucos segundos antes da explosão. Obviamente, a polícia de Birmingham havia tentado matar os dois irmãos King ao mesmo tempo. A raiva da multidão aumentou. As pessoas logo começaram a jogar garrafas e pedras. Cachorros e canhões d’água eram os alvos preferidos. George voltou para dentro do motel. À luz de lanternas, Verena ajudava a resgatar uma senhora negra idosa de um quarto em ruínas no térreo. – A coisa lá fora está ficando feia – disse-lhe George. – Estão tacando pedras na polícia. – E deveriam tacar, mesmo! Foi a polícia quem jogou as bombas. – Pense um pouco – pediu ele, com urgência. – Por que os brancos querem um motim hoje à noite? Para sabotar o acordo. Ela limpou um pouco de poeira de gesso da testa. George observou sua expressão e viu a raiva ser substituída pelo raciocínio. – Caramba, você tem razão! – exclamou ela. – Não podemos deixar que façam isso. – Mas como vamos impedir? – Temos de mandar todos os líderes do movimento lá para a rua acalmar as pessoas. Ela concordou. – Caramba, é. Vou começar a reunir todo mundo. George tornou a sair para a rua. O motim tinha se intensificado depressa. Um táxi virado e incendiado ardia no meio da rua. A um quarteirão dali, uma mercearia também estava pegando fogo. Viaturas de polícia que chegavam do centro eram paradas na Rua 17 por uma chuva de projéteis. George pegou um megafone e começou a falar com a multidão: – Calma, pessoal! Não ponham nosso acordo em risco! Os segregacionistas estão tentando começar um motim... não vamos dar o que eles querem! Vão para casa dormir! Um negro em pé ali perto disse: – Por que é que nós temos de ir para casa toda vez que eles começam a violência? George subiu no capô de um carro estacionado e ficou em pé no teto. – Isso não está nos ajudando! Nosso movimento é não violento! Vão para casa, todo mundo! – Nós somos não violentos, mas eles, não! – gritou alguém. Então uma garrafa de uísque vazia voou pelo ar e acertou George na testa. Ele desceu do teto do carro. Levou a mão à cabeça: estava doendo, mas não havia sangue. Outras pessoas assumiram seu lugar. Verena apareceu com vários líderes e pastores do movimento, e eles se misturaram à multidão para tentar acalmar as pessoas. A. D. King subiu em um carro. – Nossa casa acabou de ser bombardeada – gritou. – Nós dizemos: perdoai-os, ó Pai, pois eles não sabem o que fazem. Mas vocês não estão ajudando... estão nos prejudicando! Por
favor, vão embora deste parque! Aos poucos, a estratégia começou a dar certo. George reparou que Bull Connor tinha sumido; o responsável agora era um profissional de segurança pública, o comandante da polícia Jamie Moore, e não um detentor de cargo político. Isso ajudou. A atitude da polícia parecia ter mudado. Os bombeiros e os homens que seguravam os cachorros não pareciam mais ávidos por briga. George ouviu um policial dizer para um grupo de negros: – Nós somos seus amigos! – Era mentira, mas um novo tipo de mentira. Percebeu que entre os segregacionistas também havia pombas e falcões. Martin Luther King tinha se aliado às pombas e assim conseguira contornar os falcões. Agora os falcões estavam tentando reacender as fogueiras do ódio. Era preciso impedi-los. Sem o estímulo da truculência policial, a multidão perdeu o ímpeto de se amotinar. George começou a ouvir comentários diferentes. Quando a mercearia incendiada ruiu, as pessoas pareceram contritas. “Que pena”, comentou um homem, e outro disse: “Nós fomos longe demais.” Por fim, os pastores fizeram a multidão começar a cantar, e George relaxou. Sentiu que estava tudo acabado. Encontrou o comandante Moore na esquina da Quinta Avenida com a Rua 17. – Precisamos de equipes de reparos lá no motel, comandante – falou, educado. – O Gaston está sem energia e sem água, e não vai demorar a ficar insalubre. – Vou ver o que posso fazer – disse Moore, e levou o walkie-talkie à orelha. Antes que ele conseguisse falar qualquer coisa, porém, a polícia estadual chegou. De capacete azul, os agentes portavam carabinas e espingardas de cano duplo. Chegaram em bando, a maioria de carro, alguns a cavalo. Em poucos segundos, já eram duzentos ou mais. George encarou a cena, horrorizado. Aquilo era uma catástrofe... eles iriam recomeçar o motim. Percebeu, contudo, que era essa a intenção do governador George Wallace. Assim como Bull Connor e os responsáveis pelas bombas, Wallace agora achava que a única esperança dos segregacionistas era uma ruptura completa da lei e da ordem. Um carro se aproximou e o diretor de Segurança Pública de Wallace, coronel Al Lingo, saltou carregando uma espingarda. Dois homens que o acompanhavam, guarda-costas pelo visto, portavam submetralhadoras Thompson. O comandante Moore guardou o walkie-talkie. Falou em tom suave, mas tomou cuidado para não se dirigir a Lingo pela patente militar: – Eu gostaria que o senhor fosse embora, Sr. Lingo. Lingo dispensou a cortesia. – Vá sentar essa bunda mole de covarde lá na sua sala. Quem manda aqui agora sou eu, e minha ordem é fazer esses pretos malditos irem para a cama. George imaginou que eles fossem mandá-lo sair dali, mas estavam entretidos demais na discussão para prestar atenção nele. – Essas armas não são necessárias – falou Moore. – Pode, por favor, apontá-las para o
alto? Alguém vai acabar morrendo. – Vai mesmo, caramba! – retrucou Lingo. George se afastou rapidamente em direção ao motel. Logo antes de entrar, virou-se bem a tempo de ver a polícia estadual atacar a multidão. E o motim recomeçou. Ele encontrou Verena no pátio do motel. – Preciso voltar para Washington – falou. Não queria ir embora. Queria passar mais tempo com ela, conversando e aprofundando sua recém-descoberta intimidade. Queria fazê-la se apaixonar por ele. Mas isso teria que esperar. – O que vai fazer em Washington? – perguntou ela. – Garantir que os irmãos Kennedy entendam o que está acontecendo. Eles precisam saber que o governador Wallace está provocando violência para prejudicar o acordo. – São três horas da manhã. – Eu gostaria de chegar ao aeroporto o mais cedo possível e pegar o primeiro avião. Talvez tenha de voar por Atlanta. – Como vai chegar ao aeroporto? – Vou procurar um táxi. – Nenhum táxi vai pegar um passageiro negro na noite de hoje, principalmente se ele estiver com um galo na testa. Com delicadeza, George levou a mão ao próprio rosto e encontrou um galo bem no lugar em que ela dissera. – Como isso aconteceu? – perguntou. – Acho que vi uma garrafa acertar você. – Ah, é. Bom, talvez seja uma bobagem, mas preciso chegar ao aeroporto. – E a sua bagagem? – Não vou conseguir fazer a mala no escuro. Além disso, não tenho muita coisa. Vou embora e pronto. – Tome cuidado – disse ela. Ele a beijou. Ela o abraçou pelo pescoço e apertou o corpo esguio contra o seu. – Foi ótimo – sussurrou, antes de soltá-lo. Ele saiu do motel. As avenidas que conduziam diretamente ao centro da cidade estavam interditadas a leste; ele teria de dar uma volta. Seguiu para oeste, depois para o norte, e finalmente dobrou para leste quando sentiu que havia ultrapassado a área do motim. Não viu táxi nenhum. Talvez tivesse de esperar o primeiro ônibus de domingo de manhã. Uma luz tênue já surgia no céu a leste quando um carro parou cantando pneus ao seu lado. Ele se preparou para correr, temendo milicianos brancos, mas em seguida mudou de ideia quando três policiais estaduais saltaram do carro, com as espingardas em punho. Eles não vão precisar de muitas desculpas para me matar, pensou, assustado. O líder era um baixote com trejeitos arrogantes. George reparou nas divisas de sargento em
sua manga. – Está indo para onde, garoto? – perguntou ele. – Estou tentando chegar ao aeroporto, sargento. Talvez o senhor consiga me dizer onde posso encontrar um táxi. O líder se virou para os outros com um sorriso de ironia. – Ele está tentando chegar ao aeroporto – repetiu, como se aquilo fosse cômico. – E acha que podemos ajudá-lo a encontrar um táxi! Seus subordinados deram risadas incentivadoras. – O que vai fazer no aeroporto? – perguntou-lhe o sargento. – Limpar os banheiros? – Pegar um avião para Washington. Eu trabalho no Departamento de Justiça. Sou advogado. – É mesmo? Bom, eu trabalho para George Wallace, governador do Alabama, e nós aqui não ligamos muito para Washington. Então entre na droga do carro antes que eu quebre essa sua cabeça pixaim. – Estão me prendendo por quê? – Não banque o atrevido comigo, garoto. – Se me prender sem motivo, o senhor é um criminoso, não um policial. Com um movimento súbito e rápido, o sargento desferiu um golpe com a coronha da espingarda. Por instinto, George se esquivou e ergueu a mão para proteger o rosto. A coronha de madeira da arma o acertou no pulso esquerdo, causando uma forte dor. Os outros dois policiais o seguraram pelos braços. Ele não resistiu, mas eles o arrastaram como se ele estivesse se debatendo. O sargento abriu a porta traseira do carro, e eles o jogaram no banco de trás. Fecharam a porta antes de ele entrar direito e esta prendeu sua perna, fazendo-o gritar. Eles tornaram a abrir a porta, enfiaram sua perna machucada lá dentro e a fecharam outra vez. Ele ficou afundado no banco de trás. Sua perna doía, mas o pulso era pior. Eles podem fazer o que quiserem conosco, pensou, porque somos negros. Nessa hora, desejou ter atirado pedras e garrafas na polícia, em vez de ficar pedindo para as pessoas se acalmarem e voltarem para casa. Os agentes foram com o carro até o Gaston. Lá chegando, abriram a porta traseira e empurraram George para fora. Segurando o pulso esquerdo com a mão direita, ele voltou mancando para o pátio do hotel.
Mais tarde, no domingo de manhã, George finalmente encontrou um táxi circulando com um motorista negro e foi para o aeroporto, onde pegou um voo para Washington. Seu pulso esquerdo doía tanto que ele não conseguia usar o braço, e manteve a mão no bolso para sustentá-lo. O pulso estava inchado, e para aliviar a dor ele tirou o relógio e soltou a abotoadura.
De um telefone público no aeroporto, ligou para o Departamento de Justiça e soube que haveria uma reunião de emergência na Casa Branca às seis horas. O presidente estava a caminho, vindo de Camp David, e Burke Marshall viera de helicóptero da Virgínia Ocidental. Bobby estava a caminho do departamento e queria uma atualização urgente, e não, George não tinha tempo de passar em casa e trocar de roupa. Prometendo a si mesmo guardar uma camisa sobressalente na gaveta de sua mesa dali em diante, pegou um táxi até o Departamento de Justiça e foi direto para a sala do chefe. Embora fizesse uma careta sempre que tentava mover o braço esquerdo, insistiu que seus ferimentos eram leves e não precisavam de tratamento médico. Resumiu os acontecimentos da noite para o secretário de Justiça e um grupo de conselheiros que incluía Marshall. Por algum motivo, Brumus, o imenso Terranova preto de Bobby, também estava na sala. – A trégua acordada esta semana a duras penas está agora ameaçada – disse-lhe George, em conclusão. – As bombas e a brutalidade da polícia estadual enfraqueceram o compromisso dos negros com a não violência. Além disso, os motins ameaçam prejudicar a posição dos brancos que negociaram com Martin Luther King. George Wallace e Bull Connor, os inimigos da integração, estão torcendo para um dos lados, ou ambos, desistir do acordo. Precisamos dar um jeito de impedir isso. – Está tudo bem claro – disse Bobby. Entraram todos no carro do secretário, um Ford Galaxie 500. Como era verão, a capota estava arriada. Percorreram a curta distância até a Casa Branca. Brumus adorou o passeio. Milhares de manifestantes em frente à Casa Branca, visivelmente brancos e negros misturados, seguravam cartazes dizendo SALVEM OS ESTUDANTES DE BIRMINGHAM. O presidente estava no Salão Oval sentado em sua cadeira favorita, uma cadeira de balanço, à espera do grupo do Departamento de Justiça. Ao seu lado havia um trio de militares poderosos: Bob McNamara, o Menino-Prodígio Secretário de Defesa, o Secretário do Exército e o chefe do Estado-Maior do Exército. O grupo estava reunido ali naquele dia, entendeu George, porque os negros de Birmingham tinham causado incêndios e atirado garrafas na noite anterior. Nenhuma reunião de emergência daquele tipo jamais fora convocada em todos os anos de protestos não violentos em defesa dos direitos civis, nem mesmo quando a Ku Klux Klan tinha bombardeado casas de negros. Motins davam resultado. Os militares estavam ali para debater o envio de tropas a Birmingham. Como sempre, Bobby se concentrou na realidade política: – As pessoas vão exigir uma ação do presidente. Mas há um problema: não podemos admitir que estamos despachando tropas federais para conter a polícia estadual... Seria como se a Casa Branca declarasse guerra ao estado do Alabama. Então precisamos dizer que foi para controlar os amotinados... e seria como se a Casa Branca declarasse guerra aos negros. O presidente entendeu na hora: – Quando tiverem a proteção das tropas federais, os brancos podem simplesmente rasgar o
acordo que acabaram de fazer. Em outras palavras, pensou George, a ameaça dos motins de negros estava mantendo vivo o acordo. Embora a conclusão não lhe agradasse, era difícil de evitar. Burke Marshall tomou a palavra; considerava o acordo uma conquista sua. – O acordo não pode ruir – falou, em tom cansado. – Senão os negros vão ficar, ahn... – Incontroláveis – completou o presidente. – E não só em Birmingham – acrescentou Marshall. A sala silenciou enquanto todos refletiam sobre a perspectiva de motins semelhantes em outras cidades do país. – O que King vai fazer hoje? – perguntou o presidente Kennedy. – Pegar um avião de volta para Birmingham – respondeu George. Ficara sabendo disso pouco antes de sair do Gaston. – A esta hora, não tenho dúvidas de que ele já está fazendo a ronda de todas as grandes igrejas, pedindo às pessoas que voltem para casa de forma pacífica e não saiam mais hoje. – E elas vão obedecer? – Vão, contanto que não haja mais bombas e que a polícia estadual seja controlada. – E como podemos garantir isso? – Será que não poderiam mandar as tropas para perto de Birmingham, mas não propriamente para dentro da cidade? Assim o apoio ao acordo ficaria claro. Connor e Wallace saberiam que, caso se comportem mal, vão perder o poder. Mas isso não daria aos brancos uma oportunidade de renegar o acordo. O assunto foi debatido por algum tempo, e no final foi assim que decidiram agir. George e um pequeno subgrupo foram para a Sala do Gabinete redigir uma declaração para a imprensa, que a secretária do presidente datilografou. As coletivas em geral aconteciam na sala de Pierre Salinger, mas nesse dia os jornalistas e câmeras eram numerosos demais e a noite de verão estava amena, de modo que a declaração foi feita no Roseiral. George viu o presidente sair da Casa Branca, postar-se diante da imprensa internacional e dizer: – O acordo de Birmingham foi e continua sendo um acordo justo. O governo federal não vai permitir que seja sabotado por uns poucos extremistas de ambos os lados. Dois passos para a frente, um para trás e mais dois para a frente, pensou George, mas estamos avançando.
CAPÍTULO VINTE E TRÊS
Dave Williams tinha planos para o sábado à noite. Três meninas da sua sala no colégio iriam ao Jump Club, no Soho, e Dave e dois outros meninos tinham dito casualmente que talvez as encontrassem lá. Uma das meninas era Linda Robertson. Dave achava que ela gostava dele. A maioria das pessoas o julgava burro, uma vez que era o último da turma nas provas, mas Linda tinha conversas inteligentes com ele sobre política, assunto que ele conhecia bem por causa de sua família. Usaria uma camisa nova com o colarinho extremamente pontudo. Sabia dançar bem; até seus amigos homens admitiam que ele dançava o twist com estilo. Na sua opinião, suas chances de engatar um romance com Linda eram boas. Dave estava com 15 anos, mas, para sua grande irritação, a maioria das meninas da sua idade preferia garotos mais velhos. Ainda lhe causava certa dor lembrar como, mais de um ano antes, havia seguido a encantadora Beep Dewar na esperança de lhe roubar um beijo e a encontrara presa em um abraço apaixonado com Jasper Murray, de 18 anos. Todo sábado de manhã, os filhos da família Williams iam ao escritório do pai receber a mesada semanal. Evie, de 17 anos, recebia uma libra; Dave recebia dez shillings. Qual pedintes vitorianos, eles primeiro tinham de ouvir um sermão. Nesse dia, Evie recebeu a mesada e foi dispensada, mas Lloyd pediu a Dave que esperasse. Quando a porta se fechou, ele disse: – Seus resultados nas provas foram muito ruins. Isso Dave já sabia. Em dez anos de escola, nunca havia passado em nenhuma prova escrita. – Desculpe – falou. Não queria criar caso; só queria pegar seu dinheiro e sair dali. Lloyd estava de camisa quadriculada e cardigã, sua roupa de sábado de manhã. – Mas você não é burro – falou. – Os professores acham que eu sou. – Eu não acho isso. Você é inteligente, mas é preguiçoso. – Não sou, não. – Então qual é o problema? Dave não tinha resposta. Era um leitor vagaroso, mas o pior de tudo era que sempre esquecia o que acabara de ler assim que virava a página. Tampouco escrevia muito bem: quando queria escrever “prato”, a caneta escrevia “parto” e ele não notava a diferença. Sua ortografia era péssima. – Tirei a nota máxima em francês e alemão oral – falou. – Isso mostra que, quando tenta, você consegue. Não era nada disso, mas Dave não soube explicar.
– Pensei muito no que fazer, e sua mãe e eu tivemos conversas intermináveis sobre esse assunto. Dave pensou que aquilo não estava soando nada bem. Que diabos iria acontecer agora? – Você está velho demais para apanhar, e, de toda forma, nós nunca acreditamos muito em castigo físico. Era verdade. A maioria dos adolescentes da sua idade apanhava quando se comportava mal, mas fazia anos que a mãe de Dave não batia nele; e o pai nunca o fizera. O que o incomodou naquela conversa, porém, foi a palavra “castigo”. Estava claro que ele iria receber algum. – A única coisa em que consigo pensar para fazer você se concentrar nos estudos é suspender sua mesada. Dave não conseguiu acreditar no que estava ouvindo. – Como assim, suspender? – Não vou lhe dar mais nenhum dinheiro até você melhorar no colégio. Por essa Dave não esperava. – Mas como vou fazer para me locomover por Londres? E comprar cigarros e ir ao Jump Club?, pensou, em pânico. – Você já vai para o colégio a pé, mesmo. Se quiser ir a algum outro lugar, vai ter que se sair melhor nos estudos. – Não posso viver assim! – Você come de graça e tem um armário cheio de roupas, então não vai lhe faltar grande coisa. Basta lembrar que, se não estudar, nunca vai ter dinheiro para se movimentar. Dave ficou indignado. Seus planos para a noite estavam arruinados! Sentiu-se impotente e infantil. – Então é isso? – É. – Quer dizer que estou perdendo meu tempo aqui. – Você está aqui ouvindo seu pai tentar orientá-lo da melhor forma que pode. – É a mesma coisa, droga – resmungou Dave, e saiu batendo o pé. Tirou a jaqueta de couro do gancho no hall e saiu de casa. A manhã de primavera estava amena. O que iria fazer? Seus planos para o dia eram encontrar amigos em Piccadilly Circus, passear pela Denmark Street para olhar as guitarras, tomar um chope em algum pub, depois voltar para casa e vestir a camisa de colarinho pontudo. Tinha uns trocados no bolso – o suficiente para um chope grande. Como conseguir o dinheiro para a entrada do Jump Club? Talvez pudesse trabalhar. Quem lhe daria um emprego com tão pouca antecedência? Alguns amigos seus trabalhavam aos sábados ou domingos em lojas e restaurantes que precisavam de mão de obra extra no fim de semana. Cogitou entrar em um café e se oferecer para lavar louça na cozinha. Valia a pena tentar. Virou em direção ao West End.
Então lhe ocorreu outra ideia. Tinha parentes que talvez lhe dessem um emprego. Millie, irmã de seu pai, trabalhava com moda e tinha três butiques em subúrbios abastados de Londres: Harrow, Golders Green e Hampstead. Talvez a tia pudesse lhe arrumar um emprego aos sábados, embora ele não soubesse quão bom seria em vender vestidos para senhoras. Millie era casada com um atacadista de couro chamado Abie Avery, cujo armazém no leste de Londres talvez fosse uma aposta mais segura. Tanto ela quanto Abie, porém, decerto pediriam permissão a Lloyd, que lhes diria que o filho deveria estar estudando, não trabalhando. Mas Millie e Abie tinham um filho, Lenny, de 23 anos, que vivia de pequenos negócios e falcatruas. Aos sábados, Lenny tinha uma barraca no mercado de Aldgate, no East End, onde vendia Chanel No 5 e outros perfumes caros a preços ridiculamente baixos. Sussurrava para os clientes que eram roubados, mas na verdade eram apenas imitações, fragrâncias baratas em frascos de aspecto caro. Lenny talvez lhe conseguisse um dia de trabalho. Ele tinha o dinheiro exato para uma viagem de metrô. Entrou na estação mais próxima e comprou a passagem. Se o primo recusasse, não sabia como iria voltar. Calculou que poderia caminhar alguns quilômetros se fosse preciso. O trem o levou por baixo de Londres da rica parte oeste até o leste operário. O mercado já estava lotado de clientes ávidos para comprar a preços mais baixos do que os das lojas normais. Algumas das mercadorias eram mesmo roubadas, supôs Dave: chaleiras elétricas, barbeadores, ferros de passar e rádios surrupiados pela porta dos fundos das fábricas. Outras eram excedentes de produção vendidas barato pelos fabricantes: discos que ninguém queria, livros que não tinham conseguido se tornar sucessos de venda, porta-retratos feios, cinzeiros em forma de conchas do mar. Mas a maioria tinha algum defeito. Havia caixas de chocolate rançoso, cachecóis listrados com falhas na trama, botas de couro bicolores com tingimento irregular, pratos de porcelana decorados com meia flor. Lenny era parecido com o avô de Dave, o finado Bernie Leckwith, de quem herdara os cabelos pretos fartos e os olhos castanhos. Seus cabelos estavam besuntados de brilhantina e penteados em um topete à la Elvis. Ele recebeu o primo calorosamente. – Olá, jovem Dave! Que tal um perfuminho para a namorada? Experimente o Fleur Sauvage. – Sua pronúncia do nome em francês era gozada. – Calcinha no chão garantida, por apenas dois shillings e seis pence. – Preciso de um emprego, Lenny – disse Dave. – Posso trabalhar para você? – Emprego? Sua mãe não é milionária? – perguntou Lenny, evasivo. – Meu pai cortou minha mesada. – Por quê? – Porque minhas notas são ruins. Ou seja, estou duro. Só quero ganhar dinheiro suficiente para sair hoje. Pela terceira vez, Lenny respondeu com uma pergunta: – E eu lá tenho cara de bolsa de empregos?
– Me dê uma chance. Aposto que eu saberia vender perfume. Lenny se virou para uma cliente. – Muito bom gosto, senhora. Os perfumes da Yardley são os mais classudos do mercado... mas esse frasco aí na sua mão custa só três shillings, e tive de pagar dois shillings e seis pence ao cara que roubou, digo, que me forneceu o produto. A mulher riu e comprou o perfume. – Não posso lhe pagar um salário – disse Lenny para Dave. – Mas vamos fazer o seguinte: vou lhe dar dez por cento de tudo o que conseguir vender. – Fechado – retrucou Dave, e foi se juntar ao primo atrás das mercadorias. – Guarde o dinheiro no bolso e mais tarde a gente acerta. Ele lhe entregou uma libra em moedas para servir de troco. Dave pegou um frasco de Yardley, hesitou, sorriu para uma mulher que passava e disse: – O perfume mais classudo do mercado! Ela sorriu de volta e continuou andando. Dave continuou tentando, imitando o discurso de Lenny, e depois de alguns minutos conseguiu vender um vidro de Joy, da casa Patou, por dois shillings e seis pence. Não demorou a aprender todas as frases do primo. “Nem toda mulher tem personalidade suficiente para usar esse daí, mas a senhora... Só compre isso se houver um homem a quem realmente queira agradar... Está fora de linha, o governo proibiu o cheiro por ser excessivamente sensual...” Os clientes se mostravam alegres e sempre dispostos a rir. Vestiam-se para ir ao mercado: aquilo era um acontecimento social. Dave aprendeu inúmeras gírias para dinheiro: a moeda de seis pence era um tílburi, cinco shillings eram um dólar, e uma nota de dez shillings era meia calcinha. O tempo passou depressa. A garçonete de um café próximo lhes levou dois sanduíches de pão branco grosso recheado com bacon frito e ketchup, e Lenny lhe pagou e entregou um dos sanduíches a Dave, que se espantou ao saber que era hora do almoço. Os bolsos de seu jeans justo ficaram pesados de tantas moedas, e ele se lembrou com grande prazer que dez por cento do dinheiro era seu. No meio da tarde, notou que praticamente não havia mais homens na rua, e Lenny lhe explicou que todos tinham ido a um jogo de futebol. Por volta do final da tarde, o movimento praticamente acabou. Dave pensava que o dinheiro em seu bolso devia chegar a umas cinco libras, o que significava que ele ganharia dez shillings, mesmo valor de sua mesada normal, e poderia ir ao Jump Club. Às cinco, Lenny começou a desmontar a barraca, Dave o ajudou a guardar a mercadoria que não tinha sido vendida em caixas de papelão e eles carregaram tudo em seu furgão amarelo da Bedford. Quando contaram o dinheiro de Dave, ele havia feito pouco mais de nove libras. Lenny lhe deu uma libra, um pouco mais do que os dez por cento combinados, “porque você me ajudou a embalar”. Dave ficou radiante: tinha ganhado o dobro da quantia que o pai deveria ter lhe
dado naquela manhã. Faria aquilo todos os sábados, de bom grado, pensou, sobretudo se dessa forma conseguisse evitar os sermões de Lloyd. Os primos foram até o pub mais próximo e pediram dois chopes grandes. – Você toca um pouco de guitarra, não toca? – perguntou Lenny enquanto sentavam diante de uma mesa com um cinzeiro abarrotado em cima. – Toco. – Como é o seu instrumento? – É uma Eko. Uma cópia barata de uma Gibson. – É elétrica? – É semiacústica. Lenny fez cara de impaciente; talvez não soubesse grande coisa sobre guitarras. – Dá para plugar ou não? – Dá... por quê? – Porque estou precisando de uma guitarra base para o meu grupo. Que incrível! Dave nunca tinha pensado em entrar para uma banda, mas a ideia lhe agradou na hora. – Não sabia que você tinha um grupo. – Os Guardsmen. Eu toco piano e canto a maioria das músicas. – Que tipo de música? – Rock ’n’ roll... o único tipo que existe. – Ou seja... – Elvis, Chuck Berry, Johnny Cash... Todos os feras. Dave conseguia tocar músicas de três acordes sem dificuldade. – E os Beatles? – Os acordes deles eram mais difíceis. – Quem? – Um grupo novo. Eles são demais. – Nunca ouvi falar. – Bom, seja como for, eu consigo fazer a guitarra base de rocks antigos. A frase pareceu deixar Lenny levemente ofendido, mas ele disse: – Gostaria de fazer um teste para os Guardsmen, então? – Adoraria! Lenny olhou para o relógio. – Quanto tempo você leva para ir em casa pegar a guitarra? – Meia hora, e mais meia para voltar. – Me encontre no Clube dos Trabalhadores de Aldgate às sete. Vamos estar montando o equipamento. Podemos fazer seu teste antes de tocar. Você tem amplificador? – Tenho um pequeno. – Vai ter que servir. Dave pegou o metrô. Seu sucesso como vendedor e o chope o tinham deixado animado.
Saboreando a vitória contra o pai, ele fumou um cigarro no vagão. Imaginou-se dizendo casualmente a Linda Robertson: “Eu toco guitarra em um grupo de beat.” Ela com certeza ficaria impressionada. Ao chegar em casa, entrou pela porta dos fundos. Conseguiu subir até o quarto sem ver nem o pai nem a mãe, e levou só alguns segundos para pôr a guitarra no estojo e pegar seu amplificador. Estava de saída quando a irmã, Evie, entrou no seu quarto vestida para um sábado à noite. De saia curta e botas até os joelhos, tinha os cabelos arrumados em um penteado tipo colmeia e os olhos muito maquiados no estilo panda popularizado por Dusty Springfield. Parecia ter mais do que os seus 17 anos. – Aonde você vai? – quis saber Dave. – A uma festa. Parece que Hank Remington vai estar lá. Líder e cantor do The Kords, Remington simpatizava com algumas das causas de Evie, e já afirmara isso em entrevistas. – Você causou bastante confusão hoje – comentou ela. Não era uma acusação: a irmã sempre tomava seu partido nas brigas com os pais, e ele fazia o mesmo por ela. – Por que está dizendo isso? – Papai ficou muito chateado. – Chateado? – Dave não soube muito bem como interpretar isso. Seu pai podia se mostrar bravo, decepcionado, severo, autoritário ou tirano, e em todos esses casos ele sabia como reagir; mas chateado? – Por quê? – Vocês brigaram, imagino. – Ele não quis me dar a mesada porque não passei em nenhuma prova. – E o que você fez? – Nada. Fui embora. Devo ter batido a porta. – E onde passou o dia? – Fui trabalhar na barraca de Lenny Avery no mercado e ganhei uma libra. – Que ótimo! E agora, aonde vai com a guitarra? – Lenny tem um grupo de beat. Ele quer que eu seja a guitarra base. Era um exagero: Dave ainda não tinha sido oficialmente aceito. – Boa sorte! – Imagino que você vá dizer à mamãe e ao papai aonde eu fui. – Só se você quiser. – Pode dizer, não ligo. – Dave foi até a porta, então hesitou. – Ele está mesmo chateado? – Está. O adolescente deu de ombros e saiu. Conseguiu deixar a casa sem ser visto. Estava ansioso com o teste. Tocava e cantava bastante com Evie, mas nunca tinha tocado
com um grupo de verdade, que tivesse um baterista. Torceu para ser bom o bastante – embora não fosse difícil fazer a guitarra base. No metrô, pensou várias vezes no pai. Estava um pouco chocado com a constatação de que podia deixar Lloyd chateado. Pais eram pessoas supostamente invulneráveis, mas ele agora via que pensar assim era infantil. Por mais irritante que fosse, talvez precisasse mudar de atitude. Não podia continuar se mostrando apenas indignado e ressentido. Não era o único a estar sofrendo. Lloyd o magoara, mas ele também tinha magoado o pai e os dois eram responsáveis. Sentir-se responsável não era tão confortável quanto sentir-se indignado. Encontrou o Clube dos Trabalhadores de Aldgate e lá entrou com sua guitarra e seu amplificador. Era um lugar feio no qual compridas lâmpadas de neon lançavam uma luz dura sobre mesas de fórmica e cadeiras tubulares enfileiradas de um jeito que o fez pensar na cantina de uma fábrica; não parecia um lugar adequado para o rock ’n’ roll. No palco, os Guardsmen estavam afinando os instrumentos. Além de Lenny no piano, o grupo era formado por Lew na bateria, Buzz no baixo e Geoffrey na guitarra solo. A julgar pelo microfone na sua frente, Geoffrey também devia cantar um pouco. Todos os três eram mais velhos do que Dave, deviam ter 20 e poucos anos, e ele temeu que fossem músicos muito melhores do que ele. De repente, a guitarra base não lhe pareceu tão simples assim. Ele afinou sua guitarra com o piano e a plugou no amplificador. – Você conhece “Mess of Blues”? – perguntou Lenny. Dave conhecia, e ficou aliviado. Era uma música de rocksteady em clave de dó conduzida por um piano animado, fácil de acompanhar na guitarra. Ele a tocou sem esforço, e o fato de acompanhar um grupo o fez sentir uma animação especial que nunca tinha experimentado sozinho. Lenny cantava bem, pensou. Buzz e Lew produziam uma base sólida, bem regular. Geoff tirava alguns licks estilosos da guitarra solo. O grupo era competente, ainda que sem grande imaginação. No final da música, Lenny falou: – Os acordes complementam bem o som do grupo, mas será que você consegue tocar de maneira mais rítmica? Ser criticado deixou Dave surpreso. Ele achava que tivesse se saído bem. – Tudo bem. A música seguinte foi “Shake, Rattle and Roll”, de Jerry Lee Lewis, também conduzida pelo piano. Geoffrey cantou junto com Lenny. Dave tocou acordes sincopados no contratempo, e Lenny pareceu gostar mais. O líder então anunciou “Johnny B. Goode”, e sem que ninguém precisasse pedir Dave tocou com animação a introdução de Chuck Berry. Quando chegou ao quinto compasso, imaginou que o grupo fosse entrar, como acontecia no disco, mas os Guardsmen ficaram em silêncio. Dave parou, e Lenny disse: – Eu em geral toco a introdução no piano.
– Desculpe – disse Dave, e Lenny recomeçou. Dave desanimou; não estava se saindo bem. A música seguinte foi “Wake Up, Little Susie”. Para surpresa de Dave, Geoffrey não cantou a harmonia dos Everly Brothers. Depois da primeira estrofe, ele se aproximou do microfone de Geoffrey e começou a cantar com Lenny. Logo duas jovens garçonetes que tiravam cinzeiros das mesas pararam o que estavam fazendo para escutar. Ao final, bateram palmas. Dave sorriu, satisfeito. Era a primeira vez que alguém fora da sua família o aplaudia. – Qual é o nome do seu grupo? – perguntou uma das moças. Dave apontou para Lenny. – O grupo é dele e se chama Guardsmen. – Ah. – Ela pareceu levemente decepcionada. A última música escolhida por Lenny foi “Take Good Care of My Baby”, e outra vez Dave cantou a harmonia. As garçonetes dançaram nos corredores entre as fileiras de mesas. Depois do teste, Lenny se levantou do piano. – Bom, como guitarrista você não é lá grande coisa – falou para Dave. – Mas canta bem, e aquelas garotas gostaram muito. – Então, estou dentro ou não? – Consegue tocar hoje à noite? – Hoje?! Apesar de contente, Dave não imaginava começar tão cedo. Estava ansioso para encontrar Linda Robertson mais tarde. – Tem outra coisa melhor para fazer? Lenny parecia um pouco ofendido por Dave não ter aceitado de imediato. – Bom, eu ia encontrar uma garota, mas ela vai ter que esperar. A que horas a gente termina? – Isto aqui é um clube de trabalhadores. Eles não ficam acordados até tarde. A gente sai do palco às dez e meia. Dave calculou que poderia estar no Jump Club às onze. – Tudo bem – falou. – Ótimo. Bem-vindo ao grupo.
Jasper Murray continuava sem dinheiro para ir para os Estados Unidos. No college londrino em que estudava, o St. Julian’s, havia um grupo chamado Clube Norte-Americano que organizava voos charter com passagens baratas. Certo dia, no final da tarde, ele entrou em sua salinha no grêmio estudantil e perguntou sobre preços. Descobriu que poderia chegar a Nova York por 90 libras. Era muito, e saiu de lá desconsolado. Viu Sam Cakebread na cafeteria do college. Passara vários dias tentando encontrar uma
oportunidade de conversar com Sam fora da redação da gazeta estudantil St. Julian’s News. Sam era editor-chefe da publicação, e Jasper, editor de notícias. Sam estava acompanhado pela irmã mais nova, Valerie, que também estudava no St. Julian’s e estava usando uma boina de tweed e um minivestido. Ela escrevia matérias de moda para a gazeta. Era bonita; em outras circunstâncias, Jasper a teria paquerado, mas nesse dia estava com outras preocupações. Teria preferido falar com Sam sozinho, mas decidiu que a presença de Valerie não era um problema tão grande assim. Levou seu café até a mesa do outro rapaz. – Queria um conselho seu – começou. Na realidade queria informações, não conselhos, mas as pessoas às vezes relutavam em compartilhar informações, ao passo que sempre ficavam lisonjeadas quando alguém lhes pedia conselhos. De paletó espinha de peixe e gravata, Sam fumava um charuto; talvez quisesse parecer mais velho. – Sente-se – falou, dobrando o jornal que estava lendo. Jasper se acomodou. Sua relação com Sam era canhestra. Eles haviam competido pelo cargo de editor, e o escolhido fora Sam. Jasper escondera seu recalque e o outro rapaz o nomeara editor de notícias. Tinham virado colegas, mas não amigos. – Quero ser editor no ano que vem – disse Jasper. Esperava que Sam o ajudasse, ou por ele ser a pessoa certa para o cargo, coisa que era mesmo, ou então por culpa. – Quem decide isso é Lorde Jane – respondeu Sam, evasivo. Jane era o diretor do college. – Ele vai pedir a sua opinião. – Existe um comitê de nomeação. – Mas você e o diretor são os membros que contam. Sam não negou essa afirmação. – Quer dizer que você quer o meu conselho? – Quem mais está concorrendo? – Toby, claro. – Sério? Toby Jenkins era editor de matérias especiais, um jornalista esforçado que havia produzido uma série sem graça de matérias louváveis sobre o trabalho de funcionários como o chefe do registro acadêmico e o tesoureiro. – Ele vai se candidatar. O próprio Sam havia conseguido o emprego em parte por causa dos renomados jornalistas em sua família. Lorde Jane se deixava impressionar por esse tipo de contato, o que irritava Jasper, mas ele não comentou nada. – As matérias de Toby são banais – falou.
– Ele pode não ter imaginação, mas é um repórter meticuloso. Jasper viu nesse comentário uma alfinetada a si próprio. Ele era o oposto de Toby. Entre o efeito e a precisão, preferia o efeito. Em suas matérias, qualquer altercação virava sempre uma briga, todo plano, uma conspiração, e um ato falho nunca era nada menos do que uma mentira deslavada. Ele sabia que as pessoas liam jornais para sentir emoção, não para se informar. – E ele escreveu aquele artigo sobre os ratos no refeitório. – Foi mesmo. – Jasper tinha esquecido. A matéria causara indignação. Na realidade, fora pura sorte: o pai de Toby trabalhava para o conselho municipal e sabia sobre o esforço do departamento de controle de pestes para erradicar os roedores nas adegas setecentistas de St. Julian’s. Apesar disso, a matéria valera a Toby o cargo de editor de matérias especiais, e ele nunca mais tinha escrito nada que sequer chegasse perto de ser tão bom. – Então eu preciso de um furo – falou, pensativo. – Pode ser. – Um furo tipo revelar que o diretor está usando recursos da universidade para pagar dívidas de jogo. – Duvido que Lorde Gamble jogue. – Sam não tinha muito senso de humor. Jasper pensou em Lorde Williams. Será que Lloyd poderia lhe dar alguma dica? Infelizmente, ele era muito discreto. Então pensou em Evie. Ela havia se candidatado à Escola de Arte Dramática, que fazia parte do mesmo college, portanto era um personagem interessante para a gazeta estudantil. Acabara de arrumar seu primeiro papel como atriz em um filme chamado Miranda está cercada. E estava saindo com Hank Remington, do The Kords. Quem sabe... Jasper se levantou. – Obrigado pela sua ajuda, Sam. Estou muito agradecido mesmo. – Disponha. Jasper voltou para casa de metrô. Quanto mais pensava em entrevistar Evie, mais animado ficava. Conhecia a verdade sobre Evie e Hank. Os dois não estavam só saindo, mas tendo um tórrido caso de amor. Seus pais sabiam que ela saía com Hank duas ou três noites por semana e chegava em casa à meia-noite aos sábados, mas Jasper e Dave também sabiam que, na maior parte dos dias de semana, depois do colégio, Evie ia para o apartamento dele, em Chelsea, onde transavam. Hank já tinha escrito uma música sobre ela, “Too Young to Smoke”, ou seja, “jovem demais para fumar”. Mas será que ela daria uma entrevista para Jasper? Ao chegar à casa da Great Peter Street, encontrou-a na cozinha de lajotas vermelhas decorando um texto. Seus cabelos estavam presos de qualquer maneira e ela usava uma camiseta velha e desbotada, mas mesmo assim estava deslumbrante. O relacionamento de
Jasper com ela era caloroso. Durante todo o tempo que havia durado sua paixonite juvenil por ele, Jasper sempre se mostrara gentil, embora jamais a tivesse encorajado. Seu motivo para tamanha cautela era não querer uma crise que pudesse abrir uma distância entre ele e os generosos e hospitaleiros pais da moça. Agora, estava ainda mais satisfeito por ter mantido boas relações com ela. – Como está indo? – indagou, meneando a cabeça para o roteiro. Ela deu de ombros. – O papel não é difícil, mas o filme vai ser um novo desafio. – Talvez eu devesse entrevistar você. Ela fez uma cara preocupada. – Só posso fazer publicidade se for organizada pelo estúdio. Jasper sentiu um leve pânico. Que espécie de jornalista ele daria se não conseguisse uma entrevista com Evie, mesmo morando na mesma casa que ela? – É só para a gazeta estudantil – falou. – Acho que isso não conta. A esperança dele aumentou. – Com certeza não. E talvez ajude você a ser aceita na Escola Irving de Arte Dramática. Evie largou o roteiro. – Está bem. O que você quer saber? Jasper reprimiu a sensação de triunfo. Com uma voz controlada, perguntou: – Como conseguiu o papel no filme? – Fiz um teste. – Me conte como foi. – Ele sacou um bloquinho e começou a anotar. Tomou cuidado para não fazer referência à sua cena de nu em Hamlet. Teve medo de ela lhe dizer para não mencionar isso na entrevista. Felizmente, não precisava lhe fazer nenhuma pergunta a respeito, uma vez que vira com os próprios olhos. Perguntou-lhe, isso sim, sobre os astros do filme e outras pessoas famosas que ela havia conhecido, e aos poucos foi chegando em Hank Remington. Quando ele pronunciou o nome de Hank, os olhos de Evie se acenderam com uma intensidade reveladora. – Hank é a pessoa mais dedicada e corajosa que eu conheço – disse ela. – Eu o admiro muito. – Mas não é só admiração. – Eu o adoro. – E vocês estão namorando. – Sim, mas não quero falar muito sobre isso. – Claro, sem problemas. – Ela já tinha dito “sim”, e isso bastava. Dave chegou do colégio e preparou um café solúvel com leite fervendo. – Achei que você não pudesse fazer publicidade – comentou com a irmã.
Cale essa boca, seu merdinha privilegiado, pensou Jasper. – É só para o St. Julian’s News – respondeu ela a Dave. Jasper escreveu a matéria naquela mesma noite. Assim que a viu datilografada, entendeu que aquilo poderia ser mais do que um texto para a gazeta estudantil. Hank era um astro; Evie, uma atriz em ascensão; e Lloyd, deputado: aquilo poderia ser uma grande notícia, pensou, cada vez mais animado. Se conseguisse publicar o texto em um jornal de circulação nacional, suas perspectivas de carreira ganhariam um fôlego considerável. E ele também poderia ter problemas com a família Williams. Entregou a matéria a Sam Cakebread no dia seguinte. Então, com grande ansiedade, ligou para o tabloide Daily Echo. Pediu para falar com o editor de notícias. Não conseguiu, mas passaram-no para um repórter chamado Barry Pugh. – Sou estudante de jornalismo e tenho uma notícia para o senhor – falou. – Ok, pode falar. Jasper hesitou apenas um instante. Sabia que estava traindo Evie e a família Williams inteira, mas mesmo assim foi em frente: – É sobre a filha de um membro do Parlamento que está transando com um astro pop. – Muito bom – disse Pugh. – Quem são? – Podemos nos encontrar? – Imagino que o senhor queira dinheiro. – Sim, mas não é só isso. – O que mais, então? – Quero assinar o texto quando ele for publicado. – Primeiro me passe a matéria, depois veremos. Pugh estava tentando usar as mesmas bajulações que Jasper tinha usado com Evie. – Não, obrigado – respondeu ele, firme. – Se vocês não gostarem da matéria, não precisam publicar, mas, se a publicarem, têm que pôr meu nome. – Certo. Quando podemos nos encontrar?
Dois dias mais tarde, durante o café da manhã na Great Peter Street, Jasper leu no Guardian que Martin Luther King estava planejando uma imensa manifestação de desobediência civil em Washington, em apoio a uma Lei de Direitos civis. O reverendo previa a participação de cem mil manifestantes. – Rapaz, eu adoraria ver isso – comentou. – Eu também – falou Evie. O evento seria em agosto, durante as férias universitárias, de modo que Jasper estaria
livre. Só que não tinha as 90 libras necessárias para a passagem para os Estados Unidos. Daisy Williams abriu um envelope e exclamou: – Meu Deus! Lloyd, uma carta da sua prima alemã, Rebecca! Dave, que era o caçula, engoliu um punhado de cereal com açúcar e perguntou: – Quem diabo é Rebecca? Seu pai, que folheava os jornais com a velocidade de um político profissional, ergueu os olhos e disse: – Ela não é minha prima de verdade. Foi adotada por uns parentes distantes meus depois que os pais dela morreram na guerra. – Eu nem lembrava que tínhamos parentes alemães – disse Dave. – Gott in Himmel! Jasper já tinha percebido que Lloyd sempre se mostrava suspeitamente vago em relação aos parentes. O finado Bernie Leckwith era seu padrasto, mas ninguém nunca mencionava seu verdadeiro pai. Jasper tinha certeza de que Lloyd era filho ilegítimo. Aquilo não chegava a dar matéria para um tabloide; a ilegitimidade não era uma desgraça tão grande quanto já fora. Mesmo assim, Lloyd nunca dava detalhes. Ele retomou: – A última vez que vi Rebecca foi em 1948. Ela devia ter uns 17 anos. A essa altura, já tinha sido adotada pela minha parente, Carla Franck. Eles moravam em Berlim-Mitte, então sua casa deve estar do lado errado do muro. O que ela conta? – Está óbvio que ela deu um jeito de sair da Alemanha Oriental e se mudar para Hamburgo. Ah... o marido dela se feriu na fuga, e agora anda de cadeira de rodas. – Por que ela nos escreveu? – Está tentando encontrar Hannelore Rothmann. – Daisy olhou para Jasper. – Era a sua avó. Parece que ela foi bondosa com Rebecca durante a guerra, no dia em que seus pais morreram. Jasper não conhecera a família da mãe. – Nós não sabemos exatamente o que aconteceu com meus avós alemães, mas mamãe tem certeza de que eles morreram – falou. – Vou mostrar esta carta à sua mãe – disse Daisy. – Ela deveria escrever para Rebecca. Lloyd abriu o Daily Echo e exclamou: – Que diabo é isso?! Jasper estava esperando esse momento. Uniu as mãos no colo para impedir que tremessem. Lloyd abriu o jornal em cima da mesa. Na página três havia uma foto de Evie saindo de uma boate com Hank Remington e o título:
ASTRO DO KORDS HANK & FILHA DE DEPUTADO TRABALHISTA, 17 ANOS, QUE JÁ APARECEU NUA NO PALCO
Por Barry Pugh & Jasper Murray – Eu não escrevi isso! – mentiu Jasper. Sua indignação lhe soou forçada; o que ele estava sentindo na realidade era júbilo por ver
o próprio nome na matéria de um jornal de circulação nacional. Os outros não pareceram notar suas emoções contraditórias. Lloyd leu em voz alta: – “A mais recente paixão do astro pop Hank Remington é a filha de apenas 17 anos de Lloyd Williams, membro do Parlamento por Hoxton. Estrela do cinema em ascensão, Evie Williams é famosa por ter aparecido nua em um palco da chique escola de ensino fundamental de Lambeth, onde estudam os filhos dos ricos.” – Ai, que vergonha – comentou Daisy. Lloyd prosseguiu a leitura: – “Segundo Evie, ‘Hank é a pessoa mais corajosa e dedicada que eu já conheci’. Tanto a moça quanto o namorado apoiam a Campanha pelo Desarmamento Nuclear, apesar da reprovação do pai dela, que é o porta-voz trabalhista para assuntos militares.” – Lloyd olhou para Evie com um ar severo. – Você conhece muita gente corajosa e dedicada, a começar pela sua mãe, que dirigiu uma ambulância durante a Blitz, e pelo seu tio-avô Billy Williams, que lutou na Batalha do Somme. Hank deve ser mesmo notável para ofuscar essas pessoas. – Deixe isso para lá – disse Daisy. – Evie, achei que você não pudesse dar entrevistas sem autorização do estúdio. – Ai, meu Deus, a culpa é minha – disse Jasper. Todos olharam para ele. O rapaz sabia que haveria uma cena como aquela, e estava preparado. Não teve a menor dificuldade em fingir que estava abalado: sentia mesmo uma culpa tremenda. – Eu entrevistei Evie para a gazeta estudantil. O Echo deve ter pegado a minha matéria e reescrito para torná-la sensacionalista. Ele havia preparado essa história de antemão. – Primeira lição da vida pública – disse Lloyd. – Jornalistas são traiçoeiros. Eu sou mesmo traiçoeiro, pensou Jasper. Mas a família Williams pareceu aceitar o fato de ele não ter tido a intenção de fazer o Echo publicar a matéria. Evie estava à beira das lágrimas. – Pode ser que eu perca o papel. – Não posso imaginar que isso vá prejudicar o filme de alguma forma... muito pelo contrário – disse Daisy. – Espero que você esteja certa. – Eu sinto muito, Evie, muito mesmo – falou Jasper, com toda a sinceridade de que foi capaz. – Sinto que decepcionei você de verdade. – Não foi por querer – retrucou Evie. Ele tinha conseguido se safar. Em volta da mesa, ninguém o encarava com ar acusador. Todos consideravam que a matéria do Echo não era culpa de ninguém. A única pessoa em relação à qual ele não tinha certeza era Daisy, que mantinha a testa levemente franzida e evitava encará-lo. Mas ela amava Jasper por causa de sua mãe, e não iria acusá-lo de duplicidade. Ele se levantou.
– Vou à redação do Daily Echo – falou. – Quero conhecer esse patife chamado Pugh e ver que explicação ele tem para me dar. Sentiu-se aliviado ao sair de casa. Acabara de dar conta de uma cena difícil graças à sua capacidade de mentir, e sentiu um alívio colossal. Uma hora mais tarde, chegou à redação do Echo. Estar ali o deixou entusiasmado. Era aquilo que ele queria: a redação, as máquinas de escrever, os telefones tocando, os tubos pneumáticos para transportar textos de um lado para outro da sala, a atmosfera de animação. Barry Pugh tinha uns 25 anos, era baixo e tinha uns olhinhos apertados; estava usando um terno amarfanhado e sapatos de camurça gastos. – O senhor se saiu bem – comentou. – Evie ainda não sabe que fui eu que passei a matéria. Pugh não deu a menor atenção aos escrúpulos de Jasper: – Se pedíssemos permissão toda vez, pouquíssimas matérias seriam publicadas. – Ela deveria ter recusado todas as entrevistas, menos as organizadas pelo relaçõespúblicas do estúdio. – Os relações-públicas são seus inimigos. Tenha orgulho por ter sido mais esperto do que um deles. – Eu tenho. Pugh lhe entregou um envelope, que Jasper abriu com um rasgão. Lá dentro encontrou um cheque. – Seu pagamento – disse Pugh. – É isso que se ganha pela matéria principal da página três. Observou a quantia: 90 libras. Lembrou-se da passeata em Washington. Noventa libras era o preço da passagem para os Estados Unidos. Ele agora podia ir. Ficou animado. Guardou o cheque no bolso e disse: – Muito obrigado. Barry meneou a cabeça. – Avise se tiver mais matérias desse tipo.
Dave Williams estava nervoso por tocar no Jump Club, casa de espetáculos extremamente bacana no centro de Londres, bem ao lado da Oxford Street. O estabelecimento tinha reputação de lançar novos astros e havia apresentado ao público vários grupos agora nas paradas de sucesso. Músicos famosos frequentavam o lugar para ouvir novos talentos. Não que o clube tivesse algo de especial. Havia um pequeno palco em um dos cantos, um balcão de bar no outro e, no meio, um espaço onde as pessoas podiam dançar umas coladas às outras. O chão mais parecia um cinzeiro. A única decoração consistia em alguns cartazes
rasgados de músicos famosos que haviam se apresentado ali um dia, menos no camarim, onde as paredes exibiam os desenhos mais obscenos que Dave já vira na vida. Seu desempenho com os Guardsmen tinha melhorado, em parte graças aos úteis conselhos do primo. Lenny tinha um carinho especial por Dave e falava com ele como um tio, embora fosse apenas oito anos mais velho. “Escute o baterista”, dizia-lhe Lenny. “Assim você nunca vai sair do ritmo.” E: “Aprenda a tocar sem olhar para a guitarra, para poder encarar o público.” Dave agradecia qualquer dica que lhe dessem, mas sabia que ainda estava longe de parecer um profissional. Mesmo assim, estar no palco lhe proporcionava uma sensação maravilhosa. Como não era preciso ler nem escrever nada, ele não era mais um idiota; na verdade, era competente e estava melhorando. Começara até a ter fantasias sobre virar músico e nunca mais ter de estudar, embora soubesse que as chances eram pequenas. Mas o grupo estava melhorando. Quando Dave cantava em harmonia com Lenny, eles soavam modernos, parecidos com os Beatles. E Dave convencera Lenny a tentar batidas diferentes, autênticos blues de Chicago e música soul de Detroit, boa para dançar, o tipo de coisa que os grupos mais jovens estavam tocando. Consequentemente, estavam conseguindo mais apresentações e, em vez de uma vez a cada duas semanas, agora tocavam toda sexta e todo sábado à noite. Mas Dave tinha outro motivo para estar nervoso. Conseguira aquela apresentação pedindo a Hank Remington, namorado de Evie, que recomendasse o grupo. Mas Hank havia torcido o nariz para o nome. – Guardsmen soa antiquado, como os Four Aces ou os Jordanaires. – A gente talvez mude o nome – retrucara Dave, disposto a qualquer coisa por um show no Jump Club. – A última moda é o nome de algum blues antigo, como os Rolling Stones. Dave se lembrou da faixa de um disco de Booker T. & The MG’s que havia escutado alguns dias antes. O nome esquisito lhe chamara a atenção. – Que tal Plum Nellie? – sugeriu. Hank gostou e disse ao pessoal do clube que eles deveriam testar um grupo novo chamado Plum Nellie. A sugestão de alguém famoso como Hank era como uma ordem, e eles conseguiram a data. Quando Dave sugeriu a mudança de nome, porém, Lenny foi terminantemente contra. – O nosso nome é Guardsmen e vai continuar sendo Guardsmen – disse ele, teimoso, e começou a falar de outra coisa. Dave não se atrevera a lhe avisar que o Jump Club já pensava que o nome do grupo fosse Plum Nellie. E agora o momento da crise estava se aproximando. Na passagem de som, eles tocaram “Lucille”. Depois da primeira estrofe, Dave parou e se virou para Geoffrey, o guitarrista solo. – Que porra foi essa?
– O quê? – Você tocou alguma coisa esquisita no meio. Geoffrey abriu um sorriso experiente. – Não foi nada. Só um acorde de passagem. – Não está no disco. – E daí? Por acaso não sabe tocar um dó sustenido diminuto? Dave sabia exatamente o que estava acontecendo: Geoffrey tentava fazê-lo passar por novato. Infelizmente, porém, nunca tinha ouvido falar em acorde diminuto. – Os pianistas de bar chamam de acorde menor com a quinta diminuta, Dave – explicou Lenny. – Me mostre – pediu ele a Geoffrey, engolindo o próprio orgulho. Geoffrey revirou os olhos e suspirou, mas demonstrou como se formava o acorde. – Assim, ok? – falou, como se estivesse farto de lidar com amadores. Dave imitou o acorde. Não era difícil. – Da próxima vez, me avise antes de a gente tocar a porra da música. Depois disso, tudo correu bem. Phil Burleigh, dono do clube, apareceu e ficou escutando. Por ter perdido os cabelos muito cedo, era conhecido naturalmente como Phil Cabeleira. No final, meneou a cabeça para mostrar que tinha gostado. – Obrigado, Plum Nellie – falou. Lenny lançou um olhar irado para Dave. – O grupo se chama Guardsmen – disse, firme. – Nós falamos em mudar o nome. – Quem falou foi você. Eu disse não. – The Guardsmen é péssimo, cara – falou Curly. – Mas é o nosso nome. – Escutem, Byron Chesterfield vai vir aqui hoje à noite. – Curly disse isso com um traço de desespero na voz. – Ele é o promotor mais importante de Londres, e provavelmente da Europa. Vocês podem conseguir trabalho com ele... mas não com esse nome. – Byron Chesterfield? – disse Lenny, rindo. – Eu o conheço desde que somos crianças. Ele na verdade se chama Brian Chesnowitz. O irmão dele tem uma barraca no mercado de Aldgate. – Não é com o nome dele que eu estou preocupado, mas com o de vocês. – Não tem nada de errado com o nosso nome. – Não posso apresentar um grupo chamado Guardsmen. Tenho uma reputação a zelar. – Curly se levantou. – Foi mal, rapazes. Podem embalar seu equipamento. – Ah, Curly, vamos lá, você não vai querer deixar Hank Remington puto – disse Dave. – Hank é um velho amigo – retrucou Curly. – Nós tocamos skiffle no café 2i’s nos anos 1950. Só que ele me recomendou um grupo chamado Plum Nellie, não Guardsmen. Dave começou a se desesperar.
– Todos os meus amigos vêm! Estava pensando particularmente em Linda Robertson. – Eu sinto muito – falou Curly. Dave se virou para o primo. – Pense bem. Que importância tem um nome? – O grupo é meu, não seu – argumentou Lenny, teimoso. Então o problema era esse. – É claro que o grupo é seu – rebateu. – Mas você me ensinou que o cliente tem sempre razão. – Ele teve uma inspiração: – E pode mudar o nome de volta para Guardsmen amanhã de manhã, se quiser. – Não – insistiu Lenny, mas estava começando a ceder. – É melhor do que não tocar – continuou Dave, aproveitando sua vantagem. – Voltar para casa agora seria uma baita decepção. – Ah, então tá, que se foda – disse Lenny. E a crise acabou, para intenso alívio e satisfação de Dave. Eles ficaram no bar tomando cerveja enquanto os primeiros clientes iam chegando. Dave se ateve a um chope grande: o suficiente para deixá-lo relaxado, mas não para fazê-lo se enrolar nos acordes. Lenny tomou dois chopes, e Geoffrey, três. Para deleite de Dave, Linda Robertson apareceu usando um minivestido roxo e botas brancas até os joelhos. Pela lei, ela e todos os outros amigos de Dave eram jovens demais para beber em bares, mas se esforçavam muito para parecer mais velhos e, de todo modo, a aplicação da lei não era muito rígida. O comportamento de Linda com ele havia mudado. Antigamente, embora tivessem a mesma idade, ela o tratava como um irmão mais novo inteligente. O fato de ele estar tocando no Jump Club o tornava uma pessoa diferente aos seus olhos. Ela agora o considerava um adulto sofisticado e lhe fez várias perguntas sobre o grupo. Se aquilo era o que acontecia quando ele usava aquela roupa vagabunda de Lenny, qual seria a sensação de ser um verdadeiro astro pop?, pensou. Junto com os outros músicos, foi para o camarim se trocar. Grupos profissionais em geral se apresentavam usando ternos idênticos, mas isso custava caro. Lenny conseguiu emplacar um meio-termo: camisas vermelhas para todos. Para Dave, os uniformes estavam saindo de moda; os anárquicos Rolling Stones já se vestiam cada um de um jeito. Como era o grupo menos importante da noite, o Plum Nellie tocou primeiro. Lenny, por ser o líder, apresentou as músicas sentado na beira do palco, com o piano vertical posicionado de modo a permitir-lhe ver o público. Dave ficou no meio, tocando e cantando, e atraiu a maior parte da atenção. Agora que a preocupação com o nome da banda havia passado, pelo menos por enquanto, podia relaxar. Movimentou-se enquanto tocava, balançando a guitarra como se fosse uma parceira de dança e, ao cantar, imaginou estar falando com o público e enfatizou as palavras com expressões faciais e movimentos da cabeça. Como sempre, as garotas reagiram
e começaram a olhar para ele e sorrir enquanto dançavam ao ritmo da música. Depois da apresentação, Byron Chesterfield foi ao camarim. Tinha cerca de 40 anos e estava usando um lindo terno azul-claro de três peças. A gravata era florida, cheia de margaridas. Seus cabelos já rareavam de ambos os lados de um antiquado topete besuntado de brilhantina. Junto com ele, entrou uma onda de água-de-colônia. – Seu grupo não é nada mau – falou, dirigindo-se a Dave. Dave apontou para o primo. – Obrigado, Sr. Chesterfield, mas o grupo é do Lenny. – Oi, Brian. Não se lembra de mim? Depois de hesitar por alguns instantes, Byron respondeu: – Nossa! Lenny Avery! – Seu sotaque londrino se acentuou: – Jamais teria reconhecido você! Como vai a barraca? – Vai bem, melhor do que nunca. – Seu grupo é bom, Lenny: baixo e bateria sólidos, boas guitarras e piano. Gostei das harmonias vocais. – Ele apontou para Dave com o polegar. – E as moças adoraram o garoto ali. Vocês têm tocado bastante? Dave ficou animado. Byron Chesterfield tinha gostado do grupo! – Todos os fins de semana – respondeu Lenny. – Eu poderia conseguir seis semanas de shows para vocês no verão, fora de Londres, se estiverem interessados – disse Byron. – Cinco noites por semana, de terça a sábado. – Não sei – respondeu Lenny com indiferença. – Eu teria de pedir para minha irmã cuidar da barraca enquanto estivesse fora. – Noventa libras por semana na sua mão, sem descontos. Era mais do que eles jamais haviam recebido, calculou Dave. E com sorte as datas cairiam durante as férias escolares. Irritou-se ao ver que Lenny ainda parecia em dúvida. – E quanto à hospedagem e à comida? – perguntou Lenny. Então Dave percebeu que o primo não estava desinteressado, mas negociando. – Hospedagem incluída; comida, não – respondeu Byron. Dave pensou se as apresentações seriam em um balneário à beira-mar, onde havia trabalho temporário para artistas. – Eu não poderia largar a barraca por essa quantia, Brian – disse Lenny. – Pena que não sejam 120 libras por mês. Aí eu poderia pensar no assunto. – A casa talvez chegue a 95 como um favor pessoal a mim. – Cento e dez, então. – Se eu abrir mão do meu cachê, posso chegar a 100. Lenny olhou para o restante do grupo. – O que acham, rapazes? Todos queriam aceitar.
– Onde vai ser? – quis saber Lenny. – Em um clube chamado The Dive. Lenny balançou a cabeça. – Nunca ouvi falar. Onde fica? – Eu já não falei? – indagou Byron Chesterfield. – Em Hamburgo.
Dave mal conseguia se conter de tanta animação. Seis semanas de apresentação – e na Alemanha! Legalmente, tinha idade suficiente para largar a escola. Será que havia uma chance de se tornar músico profissional? Empolgadíssimo, levou sua guitarra, seu amplificador e Linda Robertson para a casa da Great Peter Street, com a intenção de deixar o equipamento lá antes de acompanhá-la a pé até em casa, em Chelsea. Infelizmente, seus pais ainda estavam acordados, e Daisy o abordou no hall. – Como foi? – quis saber, animada. – Foi ótimo. Só vim deixar meu equipamento e vou levar Linda. – Oi, Linda – cumprimentou Daisy. – Que prazer revê-la. – Como vai? – respondeu Linda, educada, fazendo-se passar por uma colegial recatada; mas Dave pôde ver a mãe reparando no vestido curto e nas botas provocantes. – O clube vai chamar vocês de novo? – Bom, um promotor chamado Byron Chesterfield nos ofereceu um emprego de verão em outro clube. É ótimo, porque vai ser bem durante as férias. Seu pai saiu da sala íntima ainda usando o terno da reunião política de sábado à noite da qual devia ter participado. – O que vai ser bem durante as férias? – Nosso grupo foi contratado para seis semanas de apresentações. Lloyd franziu a testa. – Você precisa estudar nas férias. Ano que vem vai ter que fazer as importantíssimas provas do fim do ginásio. Até agora, suas notas não estão nem de longe boas o suficiente para permitir que você passe o verão sem fazer nada. – Eu posso estudar de dia. Só vamos tocar à noite. – Hum. Você obviamente não liga se perder as férias anuais com a família em Tenby. – Ligo, sim – mentiu Dave. – Adoro Tenby. Mas é uma oportunidade incrível. – Bom, não vejo como vamos poder deixar você sozinho nesta casa durante semanas enquanto estivermos no País de Gales. Você só tem 15 anos. – Ahn, o clube não fica em Londres – disse Dave. – Onde fica? – Hamburgo.
– O quê?! – exclamou Daisy. – Deixe de ser ridículo – falou Lloyd. – Acha que vamos deixar você fazer isso na sua idade? Para começar, pelas leis trabalhistas da Alemanha, isso deve ser ilegal. – Nem todas as leis são aplicadas com rigidez – argumentou Dave. – Aposto que você comprava bebida ilegalmente em pubs antes dos 18. – Eu fui à Alemanha com minha mãe quando tinha 18 anos. Com certeza nunca passei um mês e meio em um país estrangeiro aos 15, sem ninguém para me vigiar. – Eu não vou estar sem ninguém para me vigiar. Lenny vai comigo. – Não acho que seu primo seja um acompanhante confiável. – Acompanhante? – repetiu Dave, indignado. – E por acaso eu sou o quê, uma donzela vitoriana? – Pela lei, você é uma criança, um adolescente, na verdade. Certamente não é um adulto. – Você tem uma prima em Hamburgo – implorou Dave. – Rebecca. Ela escreveu para mamãe. Poderia pedir a ela para cuidar de mim. – Rebecca é uma prima distante que não vejo há dezesseis anos. Não é um vínculo próximo o suficiente para eu despejar um adolescente indisciplinado na casa dela durante todo o verão. Até com minha irmã eu hesitaria em fazer isso. Daisy adotou um tom conciliatório: – Pela carta, tive a impressão de que Rebecca é uma boa pessoa, Lloyd. E não acho que tenha filhos. Ela talvez não se importe se pedirmos. Lloyd adotou uma expressão irritada. – Você quer mesmo que Dave faça isso? – Não, claro que não. Se tudo corresse como eu quero, ele iria para Tenby conosco. Mas ele está crescendo e talvez seja hora de soltarmos um pouco as rédeas. – Ela olhou para o filho. – Ele vai ver que é mais trabalho e menos diversão do que imagina, mas talvez aprenda algumas lições de vida. – Não – disse Lloyd, como quem encerra o assunto. – Se ele tivesse 18 anos, talvez eu deixasse. Mas ele é muito jovem ainda. Jovem demais. A vontade de Dave era ao mesmo tempo dar um grito de raiva e cair em prantos. Será que seus pais iriam mesmo estragar aquela oportunidade? – Está tarde – falou Daisy. – Amanhã nós conversamos sobre isso. Dave precisa levar Linda em casa antes que os pais dela comecem a ficar preocupados. Dave hesitou; não queria deixar o assunto sem solução. Lloyd foi até o pé da escada. – Nem adianta se animar – disse ao filho. – Não vai acontecer. Dave abriu a porta da frente. Se saísse agora, sem dizer mais nada, deixaria os pais com a impressão errada. Precisava fazê-los entender que não seria fácil impedi-lo de ir a Hamburgo. – Escute aqui, pai – falou, e Lloyd fez cara de espantado. Dave tomou coragem: – Pela primeira vez na vida estou tendo sucesso em alguma coisa. Escute bem o que vou dizer: se
você tentar tirar isso de mim, eu saio de casa. E juro que, se sair, nunca, nunca mais vou voltar. Conduziu Linda para fora de casa e bateu a porta com força.
CAPÍTULO VINTE E QUATRO
Tanya Dvorkin estava de volta a Moscou, mas Vasili Yenkov, não. Depois de os dois serem presos durante a leitura de poemas na Praça Maiakovski, Vasili havia sido condenado por “atividades e propaganda antissoviéticas” e recebido uma pena de dois anos em um campo de trabalho na Sibéria. Tanya sentia-se culpada: fora parceira de Vasili no crime, mas conseguira se safar. Imaginou que ele devesse ter sido espancado e interrogado. Ela, porém, continuava livre e trabalhando como jornalista, ou seja, ele não a denunciara. Talvez tivesse se recusado a falar. O mais provável era que tivesse citado colaboradores fictícios plausíveis, que a KGB acreditava serem apenas difíceis de encontrar. No verão de 1963, a pena de Vasili chegou ao fim. Se estivesse vivo – se houvesse sobrevivido ao frio, à fome e às doenças que matavam tantos prisioneiros nos campos de trabalho –, já deveria ter reaparecido. Mas não reaparecera, o que era mau sinal. Os prisioneiros em geral tinham autorização para enviar e receber por mês uma única carta, fortemente censurada, mas Vasili não podia escrever para Tanya, pois isso a denunciaria à KGB. Portanto, ela estava sem notícias e decerto a maioria dos amigos dele tampouco sabia de nada. Talvez ele escrevesse para a mãe, que Tanya não chegara a conhecer, em Leningrado; a colaboração entre os dois era segredo até para a mãe dele. Vasili era seu amigo mais próximo. Ela perdia o sono preocupada com ele. Será que ele estava doente ou mesmo morto? Talvez tivesse sido condenado por outro crime e tido a sentença prorrogada. Aquela incerteza a torturava. Chegava a lhe dar dor de cabeça. Certa tarde, arriscou-se a mencionar o nome de Vasili a seu chefe, Daniil Antonov. A editoria de matérias especiais da TASS ficava em uma sala grande, barulhenta, com vários jornalistas datilografando, falando ao telefone, lendo jornais e entrando e saindo da biblioteca de referência. Se ela falasse baixo, ninguém a escutaria. Começou dizendo: – O que aconteceu com Ustin Bodian, no fim das contas? Os maus-tratos ao cantor de ópera eram o assunto da edição do Dissidência escrita por Tanya que Vasili estivera distribuindo ao ser preso. – Morreu de pneumonia – respondeu Daniil. Isso Tanya já sabia. Só estava fingindo ignorância para conduzir a conversa até Vasili. – Um escritor foi preso junto comigo naquele dia... Vasili Yenkov – falou, em tom pensativo. – Alguma ideia do que aconteceu com ele? – O roteirista? Ele pegou dois anos. – Então já deve ter sido solto. – Pode ser. Não ouvi nenhuma notícia. Ele não vai conseguir o antigo emprego de volta, então não sei muito bem para onde poderia ir.
Ele voltaria para Moscou, Tanya tinha certeza. Apesar disso, deu de ombros para fingir indiferença e voltou a datilografar a matéria que estava escrevendo sobre uma mulher que trabalhava como pedreira. Já fizera várias perguntas discretas a pessoas que teriam sabido se Vasili houvesse voltado. Em todos os casos, a resposta havia sido a mesma: ninguém ouvira nada. Então, naquela mesma tarde, teve notícias. Terminado o trabalho, quando estava saindo do prédio da TASS, foi abordada por um desconhecido. – Tanya Dvorkin? – indagou uma voz, e ao se virar ela deparou com um homem pálido e magro vestido com roupas sujas. – Pois não? – falou, um pouco nervosa; não conseguia imaginar o que um homem daqueles poderia querer com ela. – Vasili Yenkov salvou minha vida. A frase foi tão inesperada que, por alguns segundos, ela não soube como responder. Perguntas demais lhe passaram pela cabeça: como o senhor conhece Vasili? Onde e quando ele salvou sua vida? Por que veio me procurar? Ele enfiou na sua mão um envelope sujo do tamanho de uma folha de papel normal e logo em seguida virou as costas. Tanya levou alguns instantes para conseguir voltar a raciocinar. Por fim, entendeu que havia uma pergunta mais importante do que todas as outras. Enquanto o homem ainda estava no raio de alcance de sua voz, perguntou: – Vasili está vivo? O desconhecido estacou e olhou para trás. A demora na resposta encheu de medo o coração de Tanya. Ele então disse: – Está. E ela sentiu a súbita leveza do alívio. O homem se afastou. – Espere! – chamou ela, mas ele apressou o passo e sumiu numa esquina. O envelope não estava lacrado. Tanya espiou lá dentro. Viu várias folhas de papel cobertas por uma caligrafia que reconheceu: era a de Vasili. Puxou-as para fora até a metade. A primeira trazia o título:
ENREGELAMENTO POR IVAN KUZNETSOV Tornou a enfiar as folhas no envelope e andou até o ponto de ônibus. Estava ao mesmo tempo assustada e animada. “Ivan Kuznetsov” era obviamente um pseudônimo, o nome mais comum que se poderia imaginar, como Hans Schmidt em alemão ou Jean Lefèvre em francês. Vasili tinha escrito alguma coisa, um artigo ou uma notícia. Ela mal podia esperar para ler, mas também precisou resistir ao impulso de jogar aquilo para longe como se fosse algo contaminado, pois com certeza devia ser subversivo.
Enfiou o envelope na bolsa. Como o ônibus chegou lotado – era fim do dia, horário de pico –, não pôde ler o manuscrito a caminho de casa sem o risco de alguém espiar por cima do seu ombro. Precisou conter a impaciência. Pensou no homem que havia lhe entregado os papéis. Estava malvestido, com cara de faminto e mal de saúde, e tinha uma expressão permanente de temor e atenção: igualzinho a alguém recém-saído da cadeia, pensou ela. Parecera aliviado por se livrar do envelope e relutara em lhe dizer mais do que o necessário. Mas pelo menos lhe explicara por que tinha aceitado aquela perigosa incumbência: estava pagando uma dívida. “Vasili Yenkov salvou minha vida”, tinha dito o homem. Mais uma vez, Tanya se perguntou como. Desceu do ônibus e foi a pé até a Casa do Governo. Ao retornar de Cuba, voltara a morar na casa da mãe. Não tinha motivo para arrumar o próprio apartamento e, caso tivesse, este seria bem menos luxuoso. Falou rapidamente com Anya, foi para o quarto e sentou-se na cama para ler o que Vasili tinha escrito. A caligrafia dele estava diferente. As letras agora eram menores, as ascendentes mais curtas, as caudas menos exuberantes. Será que aquilo refletia uma mudança de personalidade ou apenas uma escassez de papel?, perguntou-se. Começou a ler. Josef Ivanovich Maslov, conhecido como Soso, ficava radiante quando a comida chegava estragada. Em geral, os guardas roubavam a maior parte do carregamento para revender. Para os prisioneiros sobrava um mingau insosso de manhã e sopa de nabo à noite. Como na Sibéria a temperatura ambiente costuma ficar abaixo de zero, a comida raramente estragava, mas o comunismo fazia milagres. Assim, quando a carne às vezes ficava repleta de vermes e a gordura rançosa, o cozinheiro jogava tudo na panela e os prisioneiros comemoravam. Soso devorou uma kasha gordurosa feita com banha fedida, e ansiou por mais. Apesar de nauseada, Tanya não conseguiu parar de ler. A cada página, ia ficando mais impressionada. O texto falava sobre o relacionamento peculiar entre dois prisioneiros, o primeiro um dissidente intelectual, o segundo um gângster sem instrução. O estilo simples e direto de Vasili, surpreendentemente eficaz, descrevia a vida no campo com uma linguagem vívida e brutal. Mas havia mais do que apenas descrições. Talvez por causa da experiência em peças de teatro para o rádio, Vasili sabia como fazer uma história evoluir e Tanya constatou que seu interesse se mantinha constante. O campo fictício ficava dentro de uma floresta de alerces na Sibéria, e o trabalho dos prisioneiros era derrubar essas árvores coníferas. Como não havia regulamento de segurança nem roupas ou equipamento de proteção, os acidentes eram frequentes. Tanya prestou especial atenção em um episódio no qual o gângster rompeu uma artéria do próprio braço com uma serra e foi salvo pelo intelectual, que fez um torniquete em seu braço. Seria assim que Vasili tinha salvado a vida do mensageiro que trouxera aquele manuscrito da Sibéria até Moscou?
Tanya leu a história duas vezes. Era quase como se estivesse conversando com o amigo: o texto tinha a mesma estrutura de centenas de conversas e discussões que os dois tiveram, e ela reconheceu o tipo de coisa que Vasili considerava engraçada, dramática ou irônica. Seu coração doeu de tanta saudade. Agora que sabia que Vasili estava vivo, precisava descobrir por que ele não tinha voltado para Moscou. O texto não dava nenhuma pista sobre isso. Mas ela conhecia alguém capaz de descobrir quase qualquer coisa: seu irmão. Guardou o manuscrito na gaveta da mesinha de cabeceira. Saiu do quarto e disse à mãe: – Preciso falar com Dimka. Não demoro. Ela desceu de elevador até o andar em que o irmão morava. Sua cunhada Nina, grávida de nove meses, veio abrir a porta. – Você está com uma cara boa! – falou Tanya. Não era verdade. Nina já passara havia muito do estágio em que se diz que uma grávida está “resplandecente”. Estava imensa, com os seios dependurados e a barriga esticada feito um tambor. A pele clara estava pálida sob as sardas, e os cabelos castanho-arruivados estavam sebosos. Ela parecia ter bem mais do que seus 29 anos. – Pode entrar – falou, com voz cansada. Dimka estava assistindo ao noticiário na TV . Desligou o aparelho, deu um beijo na irmã e lhe ofereceu uma cerveja. No apartamento, estava também Masha, mãe de Nina, que viera de Perm de trem para ajudar a filha com o bebê. Camponesa baixinha e prematuramente enrugada, vestida toda de preto, estava visivelmente orgulhosa da filha instalada naquele luxuoso apartamento na cidade. Tanya ficara surpresa quando a conhecera, pois achava que a mãe de Nina fosse professora primária. No fim das contas, porém, ela só trabalhava na escola da aldeia como faxineira. Nina fingira que os pais tinham um status mais importante do que de fato tinham, prática tão comum, na opinião de Tanya, que chegava a ser quase universal. As três conversaram sobre a gestação. Tanya se perguntou como poderia conseguir falar a sós com o irmão. Não havia a menor chance de mencionar Vasili na frente de Nina ou de Masha. Por instinto, não confiava na cunhada. Por que tinha esse sentimento tão forte?, perguntou-se, culpada. Devia ser por causa da gravidez, pensou. Apesar de não ser nenhuma intelectual, Nina era inteligente, e não o tipo de mulher que engravidava por acidente. Embora nunca tivesse falado sobre isso com ninguém, Tanya desconfiava de que ela havia manipulado Dimka para fazê-lo se casar. Sabia que o irmão era sofisticado e experiente em relação a quase tudo, mas, em se tratando de mulheres, era ingênuo e romântico. Por que Nina tinha querido fazê-lo cair em uma armadilha? Porque os Dvorkin eram uma família de elite e ela era ambiciosa? Deixe de ser má, pensou. Passou meia hora jogando conversa fora, então se levantou para ir embora. Não havia nada de sobrenatural no relacionamento dos irmãos gêmeos, mas os dois se
conheciam tão bem que um geralmente conseguia adivinhar o que o outro estava pensando, e Dimka intuiu que Tanya não tinha ido lá conversar sobre a gravidez de Nina. Então se levantou também. – Preciso tirar o lixo – falou. – Você me ajuda, Tanya? Desceram de elevador, cada um com um balde de lixo na mão. Quando saíram para a rua atrás do prédio e não havia ninguém por perto, Dimka perguntou: – O que houve? – A sentença de Vasili Yenkov terminou, mas ele não voltou para Moscou. O semblante de Dimka ficou rígido. Tanya sabia que o irmão a amava, mas discordava de suas opiniões políticas. – Yenkov fez o possível para prejudicar o governo para o qual eu trabalho. Por que eu me importaria com o que acontece com ele? – Assim como você, ele acredita em liberdade e justiça. – O único resultado desse tipo de atividade subversiva é dar aos linhas-duras um pretexto para resistir às reformas. Tanya sabia que estava defendendo tanto Vasili quanto a si mesma. – Se não fosse por gente como ele, os linhas-duras diriam que está tudo bem e não haveria pressão alguma por mudanças. Como alguém ficaria sabendo que eles mataram Ustin Bodian, por exemplo? – Bodian morreu de pneumonia. – Dimka, você é melhor do que isso. Ele morreu de negligência e você sabe muito bem. – Tem razão. – Ele assumiu um ar contrito. – Você está apaixonada por Vasili Yenkov? – perguntou, com a voz mais branda. – Não. Eu gosto dele. Ele é divertido, inteligente, corajoso. Mas é o tipo de homem que precisa de uma sucessão de meninas novas. – Ou era. Não existem ninfetas em um campo de prisioneiros. – Enfim, ele é meu amigo e já cumpriu sua pena. – O mundo está repleto de injustiças. – Eu quero saber o que aconteceu com ele, e você pode descobrir para mim. Se quiser. Dimka suspirou. – E a minha carreira? No Kremlin, a compaixão por dissidentes injustiçados não é considerada uma virtude. Tanya sentiu a esperança aumentar. Ele estava cedendo. – Por favor. É muito importante para mim. – Não posso prometer nada. – Se fizer o melhor que puder, já está bom. – Tudo bem. Tomada pela gratidão, Tanya lhe deu um beijo na bochecha. – Você é um bom irmão. Obrigada.
Da mesma forma que os esquimós são conhecidos por ter várias palavras para se referir à neve, os cidadãos de Moscou tinham várias expressões para o mercado negro. Tirando as necessidades mais básicas da vida, todo o resto precisava ser comprado “à esquerda”. Muitas dessas transações eram claramente criminosas: você encontrava um sujeito que contrabandeava calças jeans do Ocidente e lhe pagava um preço exorbitante. Outras não eram nem legais nem ilegais. Para comprar um rádio ou um tapete, podia ser preciso colocar o nome em uma lista de espera; mas era possível subir para o topo da lista “por empurrão”, caso você fosse uma pessoa influente ou tivesse a possibilidade de retribuir o favor, ou então “por amigos”, caso tivesse algum parente ou amigo em condição de manipular a lista. Furar a fila era uma prática tão disseminada que a maioria dos moscovitas acreditava que ninguém nunca chegava ao topo de uma lista simplesmente esperando. Certo dia, Natalya Smotrov pediu a Dimka para ir com ela comprar uma coisa no mercado negro. – Em geral eu pediria ao Nik – falou, referindo-se ao marido, Nikolai. – Só que é o presente de aniversário dele, e quero fazer surpresa. Dimka agora sabia um pouco sobre a vida de Natalya fora do Kremlin. Ela era casada e não tinha filhos; seu conhecimento parava mais ou menos por aí. Os apparatchiks do Kremlin faziam parte da elite soviética, mas o Mercedes de Natalya e seu perfume importado indicavam alguma outra fonte de privilégio e dinheiro. Se havia algum Nikolai Smotrov nos altos escalões da hierarquia comunista, porém, Dimka nunca ouvira falar nele. – O que vai dar a ele? – Um gravador. Ele quer um Grundig... é uma marca alemã. Só no mercado negro um cidadão soviético conseguia comprar um gravador alemão. Dimka se perguntou como Natalya podia pagar um presente tão caro. – E onde vai encontrar um? – indagou. – No Mercado Central tem um cara chamado Max. Esse mercado, que ficava na Rua Sadovaya Samotyochnaya, era uma alternativa legal às lojas estatais onde produtos cultivados em jardins particulares eram vendidos a preços mais altos. Em vez de longas filas e gôndolas pouco atraentes, havia montanhas de legumes e verduras coloridos para quem pudesse comprar. E em muitas das barracas a venda de artigos legítimos ocultava negócios ilegais ainda mais lucrativos. Dimka entendia por que Natalya queria companhia. Alguns dos homens que faziam aquele tipo de trabalho eram truculentos, e uma mulher tinha motivos para ser cautelosa. Torceu para aquele ser o único motivo. Não queria cair em tentação. Sentia-se próximo de Nina agora que ela estava perto de dar à luz. Fazia alguns meses que os dois não transavam, o que o tornava mais vulnerável aos encantos de Natalya, mas isso não tinha a menor importância comparado à intensa experiência de uma gestação. A última coisa que Dimka queria era um caso com Natalya, mas não podia lhe recusar aquele simples favor.
Seu horário de almoço chegou. Natalya levou Dimka até o mercado em seu Mercedes antigo. Apesar da idade, o carro era veloz e confortável. Como será que ela consegue as peças de reposição?, perguntou-se. No caminho, ela lhe perguntou sobre Nina. – O bebê pode chegar a qualquer momento – disse ele. – Me avise se precisar de alguma coisa para bebês. A irmã de Nik tem um de 3 anos que não precisa mais das mamadeiras e coisas assim. Dimka se espantou. Mamadeiras eram um luxo ainda mais raro do que gravadores. – Obrigado. Aviso, sim. Eles estacionaram e atravessaram o mercado até uma loja que vendia móveis de segunda mão. Era um negócio semilegal. As pessoas podiam vender os próprios objetos, mas ser intermediário era ilegal, o que tornava o comércio engessado e ineficiente. Para Dimka, as dificuldades de impor regras comunistas desse tipo ilustravam a necessidade prática de muitas atividades capitalistas, ou seja, a necessidade de liberalização. Max era um homem pesado de 30 e poucos anos, vestido ao estilo americano: calça jeans e camiseta branca. Sentado diante de uma mesa de cozinha feita de pinho, bebia chá e fumava. Estava cercado por sofás e camas baratos, de segunda mão, em sua maioria velhos e danificados. – O que vocês querem? – perguntou ele em tom brusco. – Falei com o senhor na quarta passada sobre um gravador da Grundig – respondeu Natalya. – O senhor me disse para voltar em uma semana. – Gravadores são difíceis de conseguir – falou ele. – Sem rodeios, Max – interveio Dimka, falando com uma voz tão áspera e cheia de desprezo quanto o outro homem. – Você tem um gravador ou não tem? Homens como Max consideravam sinal de fraqueza dar uma resposta direta a uma pergunta simples. – Vocês vão ter que pagar em dólares americanos. – Eu aceitei o seu preço – argumentou Natalya. – Trouxe a quantia exata. Não mais do que isso. – Me deixe ver o dinheiro. Natalya tirou do bolso do vestido um maço de notas americanas. Max estendeu a mão. Dimka segurou Natalya pelo pulso para impedi-la de entregar o dinheiro antes da hora. – Cadê o gravador? – perguntou. – Josef! – gritou Max por cima do ombro. Houve uma movimentação na sala dos fundos. – O quê? – Gravador. – Certo.
Josef apareceu trazendo uma caixa de papelão sem nada escrito. Mais jovem do que Max, devia ter uns 19 anos, e trazia um cigarro pendurado nos lábios. Apesar de baixo, era musculoso. Pôs a caixa em cima de uma mesa. – É pesada. Vocês estão de carro? – Estamos parados depois da esquina. Natalya contou o dinheiro. – Custou mais do que eu imaginava – disse Max. – Não tenho mais dinheiro nenhum – respondeu Natalya. Max pegou as notas e contou. – Tudo bem – falou, ressentido. – É seu. – Levantando-se, enfiou o maço de notas no bolso da calça. – Josef vai levar a caixa até o seu carro. – Ele entrou na sala dos fundos. Josef segurou a caixa para levantá-la. – Só um instante – falou Dimka. – O que foi? Eu não tenho tempo a perder – disse Josef. – Abra a caixa. Josef o ignorou e levantou a caixa da mesa, mas Dimka apoiou a mão em cima e fez pressão, tornando impossível que ele a levantasse. Josef o encarou com um olhar furioso e, por alguns segundos, Dimka se perguntou se haveria violência. Então Josef recuou e disse: – Abra você essa porcaria. A tampa estava grampeada e presa com fita adesiva. Dimka e Natalya tiveram alguma dificuldade para abri-la. Dentro da caixa havia um gravador de rolo. A marca era Magic Tone. – Isto aqui não é um Grundig – falou Natalya. – Esses gravadores são melhores do que os Grundig – retrucou Josef. – O som é mais agradável. – Eu paguei por um Grundig – reclamou ela. – Este é uma imitação japonesa barata. – Hoje em dia é impossível conseguir um Grundig. – Então quero meu dinheiro de volta. – Não dá, vocês já abriram a caixa. – Antes de abrir a caixa, não sabíamos que vocês estavam tentando nos enganar. – Ninguém enganou ninguém. A senhora queria um gravador. – Ah, que se dane – falou Dimka, e entrou pela porta da sala dos fundos. – Você não pode entrar aí! – exclamou Josef. Dimka o ignorou e entrou. A sala estava cheia de caixas de papelão. Algumas, abertas, continham aparelhos de TV , toca-discos e rádios, todos de marcas estrangeiras. Mas Max não estava ali. Dimka viu uma porta nos fundos. Voltou à sala da frente. – Max fugiu com o seu dinheiro – falou para Natalya. – Ele é um homem ocupado – disse Josef. – Tem muitos clientes.
– Deixe de ser burro, porra! – disparou Dimka. – Max é um ladrão, e você, outro. Josef meteu o dedo bem na cara dele. – Não me chame de burro! – exclamou, em tom de ameaça. – Devolva o dinheiro dela. Antes que comece a ter problemas de verdade. Josef deu uma risada sarcástica. – O que você vai fazer? Chamar a polícia? Eles não podiam fazer isso: estavam envolvidos em uma transação ilegal. E a polícia provavelmente prenderia Dimka e Natalya, mas não Josef e Max, que decerto deviam estar pagando subornos para proteger suas atividades. – Não podemos fazer nada – disse Natalya. – Vamos embora daqui. – Levem seu gravador – falou Josef. – Não, obrigada. Não era isso que eu queria. Ela foi até a porta. – Nós vamos voltar... para buscar o dinheiro – falou Dimka. Josef riu. – E como vão fazer isso? – Você vai ver – respondeu Dimka com voz fraca, e saiu atrás de Natalya. Enquanto ela dirigia para o Kremlin, ele sentiu a frustração ferver dentro de si. – Vou conseguir seu dinheiro de volta – prometeu. – Por favor, não faça isso. Aqueles homens são perigosos. Não quero que você se machuque. Esqueça essa história e pronto. Ele não iria esquecer, mas não disse nada. Quando chegou à sua sala, a pasta da KGB sobre Vasili Yenkov estava em cima da sua mesa. Não era muito grossa. Yenkov era um editor de roteiros que nunca fora suspeito de nada até o dia, em maio de 1961, em que fora preso portando cinco exemplares de uma folha de notícias subversiva chamada Dissidência. Ao ser interrogado, alegou ter recebido uma dúzia de exemplares minutos antes e começado a distribuí-los por causa de um súbito impulso de compaixão pelo cantor de ópera acometido de pneumonia. Uma busca minuciosa de seu apartamento não revelara nada que o contradissesse. Sua máquina de escrever não batia com aquela usada para produzir a publicação. Com terminais elétricos presos aos lábios e às pontas dos dedos, ele dera o nome de outros subversivos, mas, sob tortura, tanto os inocentes quanto os culpados faziam isso. Como sempre, algumas das pessoas nomeadas por ele eram membros irrepreensíveis do Partido Comunista, enquanto outras a KGB não conseguira localizar. De modo geral, a polícia secreta estava inclinada a acreditar que Yenkov não era o editor ilegal do Dissidência. Dimka precisava admirar a coragem de um homem capaz de sustentar uma mentira durante um interrogatório da KGB. Mesmo submetido a torturas atrozes, Yenkov tinha protegido Tanya. Talvez merecesse a liberdade.
Ele conhecia a verdade que Yenkov não tinha revelado: na noite da sua prisão, levara a irmã de moto até seu apartamento, onde ela havia pegado uma máquina de escrever, sem dúvida a mesma usada para produzir o Dissidência. Meia hora depois, Dimka havia jogado a máquina no rio Moscou. Máquinas de escrever não boiavam. Ele e Tanya tinham salvado Yenkov de uma pena ainda maior. Segundo aquela pasta, o editor não estava mais no campo da floresta de alerces derrubando árvores. Alguém descobrira que ele tinha certa capacitação técnica. Como seu primeiro emprego na Rádio Moscou fora como assistente de produção de estúdio, ele entendia de microfones e conexões elétricas. A escassez de técnicos na Sibéria era tão crônica que aquilo lhe bastara para conseguir um trabalho de eletricista em uma usina de energia. Ele decerto tinha ficado contente, no início, por conseguir trabalhar num local coberto, onde não precisava correr o risco de perder um braço ou uma perna em um descuido com o machado. Mas havia um lado ruim: as autoridades relutavam em deixar um técnico competente ir embora da Sibéria. Ao final da sentença, ele havia solicitado pelos trâmites legais um visto de viagem para retornar a Moscou, mas o pedido fora negado. Agora, não tinha alternativa a não ser continuar no emprego. Estava preso lá. Era injusto, mas havia injustiça por toda parte, como Dimka comentara com Tanya. Ele estudou a fotografia que estava na pasta. Yenkov lembrava um astro de cinema: rosto sensual, lábios carnudos, sobrancelhas pretas e fartos cabelos escuros. No entanto, parecia ser mais do que isso. Uma leve expressão de ironia bem-humorada nos cantos dos olhos sugeria que ele não se levava demasiado a sério. Não seria de espantar se, apesar de ter dito que não, Tanya estivesse apaixonada por ele. Fosse como fosse, Dimka tentaria libertá-lo como um favor à irmã. Falaria com Kruschev sobre o caso, mas precisava esperar um momento em que o chefe estivesse de bom humor. Guardou a pasta na gaveta da mesa. Naquela tarde, não teve oportunidade de falar com o premiê. Kruschev foi embora cedo e Dimka estava se preparando para ir para casa quando Natalya espichou a cabeça pelo vão da porta. – Vamos tomar um drinque – sugeriu. – Depois daquela nossa experiência horrível no Mercado Central, eu bem que estou precisando. Dimka hesitou. – Preciso ir para casa ficar com Nina. Ela está quase tendo o bebê. – Só um drinque rápido. – Está bem. – Ele atarraxou a tampa da caneta tinteiro e se dirigiu à sua eficiente secretária de meia-idade: – Podemos ir, Vera. – Ainda tenho umas coisas para fazer – disse ela. Era uma profissional meticulosa. Como era frequentado pela jovem elite do Kremlin, o bar Beira-Rio não tinha um aspecto tão soturno quanto a maioria dos outros estabelecimentos de Moscou. Possuía cadeiras confortáveis, petiscos comestíveis e, para os apparatchiks com os salários melhores e um
gosto por coisas exóticas, tinha também garrafas de uísque escocês e de bourbon atrás do balcão. Nessa noite, o bar estava lotado de conhecidos de Dimka e Natalya, quase todos assessores como eles. Alguém pôs um copo de cerveja na sua mão e ele bebeu, agradecido. O lugar estava animado e ruidoso. Boris Kozlov, assessor de Kruschev como Dimka, contou uma piada arriscada: – Ei, pessoal! O que vai acontecer quando o comunismo chegar à Arábia Saudita? Todos assobiaram e lhe pediram para dizer o quê. – Depois de algum tempo, vai faltar areia! Todos riram. Assim como Dimka, aquelas pessoas trabalhavam duro para o comunismo soviético, mas não eram cegas em relação aos seus defeitos. A distância entre as aspirações do partido e a realidade da URSS incomodava todos eles, e as piadas ajudavam a aliviar a tensão. Dimka terminou a cerveja e alguém lhe deu outra. Natalya ergueu o copo como se fosse fazer um brinde. – A maior esperança para a revolução mundial é uma empresa americana chamada United Fruit – falou. As pessoas à sua volta riram. – Estou falando sério – continuou, embora estivesse sorrindo. – É ela que convence o governo americano a apoiar ditaduras de direita brutais por toda a América Central e do Sul. Se a United Fruit tivesse alguma coisa na cabeça, promoveria um progresso gradual em direção às liberdades burguesas: respeito às leis, liberdade de opinião, sindicatos. Mas, felizmente para o comunismo mundial, eles são burros demais para ver isso. Reprimem de modo implacável os movimentos de reforma, fazendo com que as pessoas não tenham outra opção que não o comunismo, justamente como previu Karl Marx. – Ela brindou com a pessoa mais próxima: – Vida longa à United Fruit! Dimka riu. Além de ser a mais bonita, Natalya era uma das pessoas mais inteligentes do Kremlin. Corada por causa da animação, com a boca larga aberta em um sorriso, ela era irresistível. Dimka não pôde evitar compará-la à mulher exausta, inchada e avessa a sexo que o esperava em casa, embora soubesse que isso era uma injustiça cruel. Natalya foi ao bar pedir uns petiscos. Dimka se deu conta de que fazia mais de uma hora que estava ali. Foi até ela com a intenção de se despedir, mas a cerveja bastou para deixá-lo incauto e, quando ela lhe sorriu calorosamente, ele a beijou. Ela retribuiu o beijo com vontade. Dimka não entendia aquela mulher. Ela passara uma noite com ele; depois gritara dizendo que era casada; depois o convidara para tomar um drinque; e por fim o beijara. O que iria acontecer depois? Mas com aquela boca quentinha sobre a sua e a ponta da língua dela acariciando seus lábios, a última coisa que lhe importava era sua falta de coerência. Natalya interrompeu o abraço e Dimka viu sua secretária em pé bem ao seu lado. Vera ostentava uma expressão severa, julgadora. – Eu estava à sua procura – falou, em tom acusador. – Telefonaram procurando o senhor logo depois que saiu.
– Sinto muito – retrucou Dimka, sem saber muito bem se estava se desculpando por ela ter achado difícil encontrá-lo ou por causa do beijo. Natalya pegou um prato de picles da mão do barman e voltou para junto do grupo. – Sua sogra ligou – continuou Vera. A euforia de Dimka desapareceu na hora. – Sua mulher entrou em trabalho de parto. Está tudo bem, mas o senhor deve ir ficar com ela no hospital. – Obrigado – disse ele, sentindo-se o pior tipo de marido infiel. – Boa noite – falou Vera, e saiu do bar. Dimka a acompanhou até o lado de fora. Passou algum tempo parado, respirando o ar fresco da noite. Então subiu na moto e tomou o caminho do hospital. Que hora para ser pego beijando uma colega. Ele merecia se sentir humilhado: tinha agido mal. Parou a moto no estacionamento do hospital e entrou. Encontrou Nina na ala da maternidade, sentada na cama. Em uma cadeira logo ao lado, Masha segurava um bebê enrolado em um xale branco. – Parabéns – disse-lhe a sogra. – É um menino. – Um menino – repetiu Dimka. Olhou para Nina. Ela lhe abriu um sorriso cansado, mas triunfante. Ele olhou para o filho. O bebê tinha fartos cabelos escuros, que estavam úmidos. Seus olhos eram de um tom de azul que o fez pensar no avô Grigori. Mas todos os bebês tinham olhos azuis, lembrou. Seria sua imaginação, ou aquele bebê já parecia mesmo fitar o mundo com o olhar intenso de seu avô? Masha lhe estendeu o menino. Ele pegou aquela trouxinha como quem segura uma casca de ovo gigante. Na presença daquele milagre, os dramas do dia se dissolveram por completo. Eu tenho um filho, pensou ele, e seus olhos se encheram de lágrimas. – Ele é lindo – falou. – O nome dele vai ser Grigor.
Nessa noite, duas coisas mantiveram Dimka acordado. Uma foi a culpa: enquanto sua mulher dava à luz em meio ao sangue e à dor, ele beijava Natalya. A outra foi a raiva pela maneira como fora enganado e humilhado por Max e Josef. Não fora ele quem tinha sido roubado, e sim Natalya, mas isso em nada diminuía sua indignação e seu ressentimento. Na manhã seguinte, a caminho do trabalho, ele passou de moto no Mercado Central. Ficara metade da noite ensaiando o que diria a Max. “Meu nome é Dmitri Ilich Dvorkin. Vá verificar quem eu sou. Veja para quem eu trabalho. Descubra quem é meu tio e quem foi meu pai. Depois me encontre aqui, amanhã, com o dinheiro de Natalya, e implore para eu não me vingar como você merece.” Pensou se teria coragem de dizer tudo isso, se Max reagiria com assombro ou com desprezo, e se o discurso seria ameaçador o bastante para recuperar os
dólares de Natalya e o seu próprio orgulho. Max não estava sentado à mesa de pinho. Não estava sequer na sala. Dimka não soube se devia ficar desapontado ou aliviado. Encontrou Josef em pé junto à porta da sala dos fundos. Pensou se valeria a pena fazer seu discurso para o rapaz. Ele decerto não tinha poder para reaver o dinheiro, mas talvez falar com ele aliviasse a raiva que estava sentindo. Enquanto hesitava, reparou que Josef tinha perdido a arrogância ameaçadora da véspera. Para seu espanto, antes que conseguisse ao menos abrir a boca, o rapaz recuou para longe dele com ar amedrontado e disse: – Eu sinto muito! Sinto muito! Dimka não soube explicar aquela transformação. Se Josef tivesse descoberto, da noite para o dia, que ele trabalhava no Kremlin e vinha de uma família politicamente poderosa, talvez se mostrasse contrito e conciliatório, e quem sabe até devolvesse o dinheiro, mas não ficaria com cara de quem teme pela própria vida. – Eu só quero o dinheiro de Natalya – falou. – Nós devolvemos! Já devolvemos! Dimka não entendeu. Será que Natalya estivera ali antes dele? – Devolveram para quem? – Para aqueles dois homens. Dimka não conseguiu entender. – E Max, onde está? – perguntou. – No hospital. Eles quebraram os dois braços dele. Isso não basta para você? Dimka refletiu por alguns segundos. A menos que tudo aquilo fosse algum tipo de enigma, parecia que dois homens haviam espancado brutalmente Max e o forçado a lhes devolver o dinheiro de Natalya. Quem poderiam ser? E por que tinham agido assim? Era óbvio que Josef não sabia mais nada. Intrigado, Dimka virou as costas e saiu da loja. Não tinha sido a polícia que fizera aquilo, raciocinou enquanto caminhava de volta até a motocicleta. Nem o Exército, tampouco a KGB. Qualquer alto funcionário teria prendido Max, levado-o e quebrado seus braços com toda a discrição. Ou seja, aquilo fora obra de alguém extraoficial. Extraoficial significava alguma gangue. Ou seja, algum dos amigos ou parentes de Natalya era um bandido perigoso. Não era de espantar que ela nunca tivesse revelado grande coisa sobre sua vida particular. Dimka dirigiu depressa até o Kremlin, mas mesmo assim ficou consternado ao constatar que Kruschev havia chegado antes dele. Porém seu chefe estava de bom humor: ele pôde ouvir sua risada. Talvez fosse a hora de mencionar Vasili Yenkov. Abriu a gaveta de sua mesa e pegou o dossiê da KGB sobre o editor preso. Em seguida pegou uma pasta de documentos para o premiê assinar e hesitou. Seria uma tolice fazer aquilo, mesmo para sua amada irmã. No entanto, reprimiu a ansiedade e entrou no escritório principal. Sentado atrás de uma grande escrivaninha, o primeiro-secretário falava ao telefone. Não
gostava muito de telefones e preferia contatos cara a cara; segundo ele, assim podia perceber quando as pessoas estavam mentindo. Mas aquela conversa estava alegre. Dimka pôs as cartas na frente de Kruschev, que começou a cantar enquanto continuava a falar e rir ao telefone. Quando desligou, perguntou a Dimka: – O que é isso aí na sua mão? Parece um dossiê da KGB. – Vasili Yenkov. Ele foi condenado a dois anos em um campo de prisioneiros por estar portando um panfleto sobre Ustin Bodian, o cantor de ópera dissidente. Já cumpriu a pena, mas eles não o deixam sair de lá. Kruschev parou de assinar e ergueu os olhos. – Algum interesse pessoal da sua parte? Dimka sentiu um calafrio de medo. – Absolutamente nenhum – mentiu, dando um jeito de não deixar transparecer a ansiedade. Se revelasse a relação da irmã com um subversivo condenado, poderia ser o fim de sua carreira e da dela. Kruschev estreitou os olhos. – Então por que deveríamos deixá-lo voltar para casa? Dimka desejou ter recusado o pedido de Tanya. Deveria ter sabido que Kruschev perceberia a verdade: um homem não se tornava líder da URSS sem ser dotado de uma desconfiança que beirava a paranoia. Desesperado, tentou recuar. – Não estou dizendo que devemos trazê-lo para casa – falou, com a maior calma de que foi capaz. – Só pensei que o senhor talvez quisesse saber sobre ele. O crime foi banal, ele já foi punido e, se o senhor concedesse justiça a um dissidente sem importância, estaria sendo condizente com a sua política geral de liberalização cautelosa. Kruschev não se deixou enganar. – Alguém lhe pediu um favor. – Dimka abriu a boca para protestar inocência, mas o premiê ergueu uma das mãos para silenciá-lo. – Não negue, eu não me importo. A influência é a sua recompensa por trabalhar duro. Dimka sentiu como se uma sentença de morte houvesse acabado de ser revogada. – Obrigado – falou, com um tom de gratidão mais patético do que pretendia. – Que trabalho Yenkov está fazendo na Sibéria? Dimka percebeu que sua mão que segurava o dossiê estava tremendo. Pressionou o braço contra a lateral do corpo para fazê-la parar. – Ele é eletricista em uma usina de energia. Não é qualificado, mas antes trabalhava na rádio. – E o que ele fazia em Moscou? – Era editor de roteiros. – Ah, porra, que história é essa? – Kruschev largou a caneta. – Editor de roteiros? Que utilidade tem um editor de roteiros? Eles estão desesperados atrás de eletricistas na Sibéria. Deixe o homem lá. Ele está fazendo algo de útil.
Dimka o encarou, consternado. Não soube o que dizer. Kruschev tornou a pegar a caneta e voltou a assinar os papéis. – Editor de roteiros – resmungou. – Que piada.
Tanya datilografou o conto de Vasili, Enregelamento, com duas cópias em papel carbono. Mas aquilo era bom demais para uma simples publicação samizdat. Vasili evocava de maneira vívida e brutal a realidade dos campos de prisioneiros, mas não era só isso. Ao copiar o texto, ela entendeu, com dor no coração, que aquele campo representava a URSS, que o texto era uma crítica feroz à sociedade soviética. Vasili dizia a verdade de uma forma que Tanya seria incapaz, e ela se sentiu corroída pelo remorso. Todos os dias, escrevia matérias que saíam em jornais e revistas por toda a União Soviética; todos os dias, evitava cuidadosamente a realidade. Não chegava a mentir diretamente, mas sempre se esquivava da pobreza, da injustiça, da repressão e do desperdício que eram as verdadeiras características do seu país. O texto de Vasili lhe mostrava que sua vida era uma fraude. Ela levou a cópia datilografada para seu editor. – Isto aqui chegou pelo correio, sem remetente – falou. Ele poderia muito bem adivinhar que ela estava mentindo, mas não a trairia. – É um conto ambientado em um campo de prisioneiros. – Não podemos publicar – disse Daniil depressa. – Eu sei. Mas o texto é muito bom... obra de um grande escritor, eu acho. – Por que está me mostrando isso? – Você conhece o editor da revista New World. Daniil ficou pensativo. – Ele às vezes publica coisas pouco ortodoxas. Tanya baixou a voz: – Não sei até onde a liberalização de Kruschev pretende ir. – A política tem vacilado, mas a instrução geral é que os excessos do passado devem ser discutidos e condenados. – Você daria uma lida e, se gostar, mostraria para o editor? – Claro. – Daniil leu algumas linhas. – Por que acha que mandaram para você? – Deve ter sido escrito por alguém que conheci na Sibéria quando estive lá há dois anos. – Ah. – Ele assentiu. – É uma explicação. – O que ele quis dizer foi: nada mau como justificativa. – O autor provavelmente vai revelar sua identidade se o texto for aceito para publicação. – Está bem. Vou fazer o possível.
CAPÍTULO VINTE E CINCO
A Universidade do Alabama era a última universidade estadual só para brancos dos Estados Unidos. Na terça-feira, 11 de junho, dois jovens negros chegaram ao campus de Tuscaloosa para se matricular. George Wallace, o baixote governador do estado, postou-se diante das portas da universidade, de braços cruzados e com as pernas bem plantadas, e jurou não deixálos entrar. No Departamento de Justiça, em Washington, George Jakes estava sentado com Bobby Kennedy e outros escutando por telefone os relatos de pessoas na universidade. A televisão estava ligada, mas por enquanto nenhuma rede nacional exibia a cena ao vivo. Menos de um ano antes, duas pessoas tinham sido mortas a tiros em um motim na Universidade do Mississippi após a matrícula do primeiro aluno negro. Os irmãos Kennedy estavam decididos a impedir uma repetição. George estivera em Tuscaloosa e visitara o arborizado campus da universidade. Ao percorrer os gramados verdejantes, tinha deparado com testas franzidas: era o único rosto negro entre as belas garotas de meias soquete e os elegantes rapazes de blazer. Havia feito para Bobby um esboço do grande pórtico do Auditório Foster, com suas três portas, diante do qual Wallace estava agora postado, em frente a um púlpito portátil, cercado por agentes da polícia estadual. A temperatura de junho na cidade se aproximava dos 38oC. George podia visualizar os repórteres e fotógrafos aglomerados diante do governador, suando sob o sol, esperando a violência começar. Aquele confronto vinha sendo antecipado e planejado por ambos os lados havia tempos. George Wallace era um democrata sulista. Abraham Lincoln, que libertara os escravos, era republicano, enquanto os sulistas pró-escravatura eram democratas. Esses mesmos sulistas continuavam no partido, ajudando a eleger presidentes democratas e depois prejudicando seu mandato. Wallace era um homem pequeno, feio e careca, a não ser por um tufo de cabelos na frente da cabeça que besuntava de brilhantina e penteava para transformar em um ridículo topete. No entanto, ele era astuto, e George não conseguia entender o que pretendia naquele dia. Que resultado Wallace esperava? O caos ou algo mais sutil? O movimento em defesa dos direitos civis, que dois meses antes parecia agonizante, ganhara fôlego depois dos motins de Birmingham. O dinheiro fluía aos borbotões: durante um evento beneficente em Hollywood, estrelas de cinema como Paul Newman e Tony Franciosa tinham assinado cheques de mil dólares cada um. Apavorada com a ideia de mais desordem, a Casa Branca estava desesperada para apaziguar os manifestantes. Bobby Kennedy enfim havia se rendido à opinião de que uma nova Lei de Direitos Civis era necessária. Agora admitia que estava na hora de o Congresso banir a discriminação em
todos os espaços públicos – hotéis, restaurantes, ônibus, sanitários – e proteger o direito dos negros ao voto. Só que ainda não conseguira convencer seu irmão presidente. Nessa manhã, o secretário de Justiça tentava dar a impressão de estar calmo e no controle da situação. Uma equipe de TV o filmava, e três de seus sete filhos corriam pela sala. Mas George sabia com que rapidez a descontraída afabilidade de Bobby podia se transformar em fúria gelada quando as coisas davam errado. Bobby estava decidido a impedir novos motins, mas estava igualmente decidido a conseguir que os dois alunos se matriculassem. Um juiz emitira um mandado a favor da matrícula, e Bobby, como secretário de Justiça, não podia se deixar derrotar por um governador estadual determinado a desconsiderar a lei. Estava pronto para mandar o Exército tirar Wallace à força da frente do auditório, embora isso também fosse ser um final infeliz, com Washington intimidando o Sul. Em mangas de camisa, curvado sobre o aparelho de telefone em sua espaçosa mesa, Bobby exibia marcas de suor debaixo dos braços. O Exército tinha montado um sistema de comunicação móvel, e alguém no meio da multidão ia relatando ao secretário o que estava acontecendo. – Nick chegou – disse a voz que saiu do aparelho. Nicholas Katzenbach era o subsecretário de Justiça e estava no Alabama representando Bobby. – Ele está indo falar com Wallace... está entregando a ele a ordem para sair. – Katzenbach estava munido de uma ordem presidencial que mandava Wallace parar de desafiar um mandado judicial. – Agora Wallace está fazendo um discurso. O braço esquerdo de George Jakes estava sustentado por uma discreta tipoia de seda preta. A polícia estadual do Alabama tinha rachado um osso de seu pulso em Birmingham. Dois anos antes, um arruaceiro racista tinha quebrado aquele mesmo braço em Anniston, também no Alabama. George esperava nunca mais ter de voltar a esse estado. – Wallace não está falando em segregação – disse a voz no aparelho. – Está falando sobre direitos do estado. Diz que Washington não tem o direito de interferir nas instituições de ensino do Alabama. Vou tentar me aproximar para o senhor poder escutá-lo. George franziu a testa. Em seu discurso de posse como governador, Wallace tinha dito: “Segregação agora, amanhã e para sempre.” Na ocasião, porém, estava falando com a população branca do Alabama. Quem estaria tentando impressionar agora? Algo estava acontecendo ali que os irmãos Kennedy e seus conselheiros ainda não tinham entendido. O discurso de Wallace foi longo. Quando ele enfim terminou de falar, Katzenbach exigiu novamente que o governador obedecesse à lei, e Wallace recusou. Impasse. O subsecretário então saiu do local, mas o drama não havia acabado. Os dois alunos, Vivian Malone e James Hood, aguardavam dentro de um carro. Ficara combinado que Katzenbach acompanharia Vivian até seu alojamento, enquanto outro advogado do Departamento de Justiça faria o mesmo com James. Mas isso era apenas temporário. Para se matricular oficialmente, eles tinham de entrar no Auditório Foster.
O noticiário do meio-dia começou na TV , e na sala de Bobby Kennedy alguém aumentou o volume. Em pé diante do púlpito, Wallace parecia mais alto do que era de fato. Não disse nada sobre pessoas de cor, segregação ou direitos civis. Falou, isso sim, no poder do governo central que estava oprimindo a soberania do estado do Alabama. Indignado, discorreu sobre liberdade e democracia, como se não houvesse nenhum negro a quem o direito de voto estivesse sendo negado. Citou a Constituição como se não a desdenhasse diariamente. Foi um espetáculo de grande virtuosismo, que deixou George preocupado. Burke Marshall, o advogado branco que chefiava a divisão de direitos civis, estava na sala de Bobby. George ainda não confiava nele, mas Marshall havia se tornado mais radical depois de Birmingham, e nesse dia sugeriu pôr fim ao impasse de Tuscaloosa mandando o Exército. – Por que não fazemos logo isso? – perguntou ao secretário. Bobby concordou. Levou tempo. Os assessores do secretário pediram sanduíches e café. No campus, todos mantiveram suas posições. A TV começou a transmitir notícias do Vietnã. Em um cruzamento de Saigon, um monge budista chamado Thic Quang Duc, encharcado com 20 litros de gasolina, tinha calmamente acendido um fósforo e tocado fogo em si mesmo. O suicídio era um protesto contra a perseguição da maioria budista pelo presidente Ngo Dinh Diem, um católico apoiado pelos americanos. O trabalho do presidente Kennedy não acabava nunca. Por fim, alguém disse no viva-voz do presidente: – O general Graham chegou... com quatro soldados. – Quatro? – estranhou George. – É essa a nossa demonstração de força? Eles ouviram uma nova voz, provavelmente do general, falar com Wallace: – Governador, é meu triste dever pedir ao senhor que saia da frente. Ordens do presidente dos Estados Unidos. Graham era comandante da Guarda Nacional do Alabama, e claramente cumpria ordens que iam contra as próprias inclinações. Mas a voz no aparelho então disse: – Wallace está se afastando... Wallace está indo embora! Ele está indo embora! Acabou! Houve vivas e apertos de mão no escritório. Dali a um minuto, os outros repararam que George não estava comemorando. – O que houve com você? – quis saber Dennis Wilson. Na opinião de George, as pessoas ao seu redor não estavam raciocinando direito. – Wallace planejou isso – falou. – Desde o início ele pretendia ceder assim que chamássemos o Exército. – Mas por quê? – É essa a pergunta que está me incomodando. Passei a manhã inteira com a impressão de que estamos sendo usados.
– Mas o que Wallace ganhou com essa farsa? – Exposição. Ele acabou de aparecer na TV , posando como o homem comum que enfrenta um governo truculento. – O governador Wallace vai reclamar de ter sido alvo de truculência? – falou Wilson. – Que piada! Bobby, que vinha acompanhando o debate, interveio: – Escutem George. Ele está fazendo as perguntas certas. – Piada para você e para mim – disse George. – Mas muitos americanos da classe trabalhadora sentem que a integração está sendo empurrada pela sua goela abaixo por gente bem-intencionada de Washington como todos nós aqui nesta sala. – Eu sei – disse Wilson. – Embora seja pouco usual ouvir isso de... – Ele estava prestes a dizer “de um negro”, mas mudou de ideia. – ... de alguém que faz campanha pelos direitos civis. Aonde você quer chegar? – O que Wallace fez hoje foi falar para esses eleitores brancos da classe trabalhadora. Eles vão se lembrar dele ali em pé, desafiando Nick Katzenbach, que todos dirão ser um típico liberal da Costa Leste, e vão se lembrar dos soldados que o obrigaram a se retirar. – Wallace é governador do Alabama. Por que ele precisaria falar para a nação? – Desconfio que ele vá desafiar Jack Kennedy nas primárias democratas do ano que vem. Esse cara vai se candidatar à Presidência, gente. E a campanha dele começou hoje, em rede nacional de televisão... com a nossa ajuda. Alguns segundos de silêncio recaíram sobre a sala enquanto os presentes digeriam esse fato. George pôde ver que estavam todos convencidos pela sua argumentação e preocupados com o que aquilo acarretava. – No presente momento, Wallace é a notícia mais importante, e ele parece um herói – concluiu George. – Talvez o presidente precise tomar a iniciativa de novo. Bobby apertou um botão do interfone sobre sua mesa e pediu: – Me ligue com o presidente. Acendeu um charuto. Dennis Wilson atendeu um telefonema em outro aparelho. – Os dois alunos entraram no auditório e se matricularam – falou. Pouco depois, Bobby pegou o telefone para falar com o irmão. Disse que eles tinham conseguido uma vitória sem violência. Então começou a escutar. – É! – falou, em determinado momento. – George Jakes disse a mesma coisa... – Houve outra pausa demorada. – Hoje à noite? Mas nós não temos discurso... É claro que podemos escrever um. Não, acho que você tomou a decisão certa. Vamos em frente. – Desligou e correu os olhos pela sala. – O presidente vai apresentar uma nova Lei de Direitos Civis. George sentiu o coração dar um pinote. Era o que ele, Martin Luther King e todos os outros integrantes do movimento estavam pedindo. – E vai fazer o anúncio ao vivo na televisão... hoje à noite – completou Bobby.
– Hoje? – estranhou George. – Daqui a algumas horas. Fazia sentido, pensou George, ainda que fosse meio apressado. Assim o presidente voltaria a ser a notícia mais importante, exatamente como deveria ser – mais do que George Wallace e mais do que Thich Quang Duc. – E ele quer que você vá lá ajudar Ted a escrever o discurso – completou Bobby. – Pois não, secretário. George saiu do Departamento de Justiça muito animado. Caminhou tão depressa que chegou ofegante à Casa Branca, e se demorou um minuto no térreo da Ala Oeste para recuperar o fôlego antes de subir. Encontrou Ted Sorensen em sua sala com um grupo de colegas. Tirou o paletó e sentou-se. Entre os papéis espalhados sobre a mesa havia um telegrama de Martin Luther King para o presidente. Em Danville, Virgínia, quando 65 negros haviam protestado contra a segregação, 48 deles tinham apanhado tanto da polícia que foram parar no hospital. “A resistência dos negros talvez esteja chegando ao fim”, dizia a mensagem de King. George sublinhou essa frase. O grupo trabalhou com afinco na redação do discurso. O texto começaria fazendo referência aos acontecimentos daquele dia no Alabama, e destacaria que os soldados estavam fazendo cumprir um mandado judicial. Mas o presidente não se demoraria nos detalhes dessa rixa específica, e passaria rapidamente para um forte apelo aos valores morais de todos os americanos decentes. De tempos em tempos, Sorensen levava páginas manuscritas para a secretária datilografar. George estava frustrado pelo fato de algo tão importante estar sendo feito às pressas, na última hora, mas entendia o motivo. A redação de uma lei era um processo racional; a política, por sua vez, era um jogo intuitivo. Jack Kennedy tinha um instinto aguçado, e seu sexto sentido lhe dizia que precisava tomar a iniciativa naquele dia. O tempo passou depressa demais. O discurso ainda estava sendo escrito quando as equipes de TV entraram no Salão Oval e começaram a instalar seus equipamentos de iluminação. O presidente andou pelo corredor até a sala de Sorensen para perguntar a quantas andava o discurso. Sorensen lhe mostrou algumas páginas, e Kennedy não gostou. Os dois foram para a sala das secretárias, e o presidente começou a ditar as mudanças para que fossem datilografadas. Quando deu oito horas, o discurso ainda não estava terminado, mas Kennedy entrou em cadeia nacional mesmo assim. George assistiu ao pronunciamento na sala de Sorensen, roendo as unhas. E Kennedy se saiu melhor do que nunca. Começou com uma formalidade um tanto excessiva, mas pegou ritmo ao falar sobre as perspectivas de vida de um bebê negro: metade das chances de completar o ensino médio, um terço das chances de se formar no ensino superior, duas vezes mais chances de ficar desempregado, e uma expectativa de vida sete anos menor do que a de um bebê branco.
– Acima de tudo, trata-se de uma questão moral – disse ele. – Uma questão mais antiga do que as Escrituras e tão clara quanto a Constituição dos Estados Unidos. George ficou maravilhado. Grande parte daquele discurso era improvisada e mostrava um novo Jack Kennedy. O presidente elegante e moderno tinha descoberto o poder de falar como um profeta. Talvez tivesse aprendido com o reverendo Martin Luther King. – Quem de nós aceitaria trocar a cor da própria pele? – indagou, tornando a usar palavras curtas, simples. – Quem de nós aceitaria as recomendações de paciência e espera? Quem havia aconselhado paciência e espera tinham sido justamente Jack Kennedy e seu irmão Bobby, pensou George. Alegrou-se ao constatar que eles agora tinham percebido a dolorosa inadequação desse conselho. – Nós pregamos a paz mundo afora – prosseguiu Kennedy. George sabia que ele estava prestes a viajar para a Europa. – Mas será que poderemos dizer ao mundo, e sobretudo uns aos outros, que esta é a terra dos livres, exceto para os negros? Que não temos cidadãos de segunda classe, exceto os negros? Que não temos sistema de classes ou de castas, nem guetos, nem raça superior, exceto em relação aos negros? George exultava. Eram palavras fortes, sobretudo a referência à raça superior, que lembrava os nazistas. Aquele era o tipo de discurso que ele sempre quisera que o presidente fizesse. – A fogueira da frustração está ardendo em todas as cidades, de norte a sul, onde os recursos legais não estão disponíveis – continuou Kennedy. – Na semana que vem, pedirei ao Congresso dos Estados Unidos para agir, para assumir um compromisso que ainda não assumiu totalmente neste século, com o conceito de que... – Ele havia tornado a ficar formal, mas então voltou a usar uma linguagem simples: – ... a raça não tem lugar nem na vida nem na lei americanas. Aquilo era uma frase para os jornais, pensou George na mesma hora: a raça não tem lugar nem na vida nem na lei americanas. Mal conseguiu conter a empolgação. Seu país estava mudando, ali mesmo, a cada minuto, e ele fazia parte dessa transformação. – Aqueles que não fizerem nada estarão instigando, além da violência, a vergonha – prosseguiu o presidente, e George pensou que ele estava sendo sincero, embora não fazer nada tivesse sido a sua política até poucas horas antes. – Peço o apoio de todos os nossos cidadãos – concluiu Kennedy. A transmissão terminou. No corredor, os equipamentos de iluminação da TV foram desligados e a equipe começou a guardar tudo. Sorensen parabenizou o presidente. Apesar da euforia, George estava exausto. Foi para seu apartamento, comeu ovos mexidos e assistiu ao noticiário. Como esperava, o pronunciamento do presidente era a notícia principal. Então foi para a cama e adormeceu. Acordou com o telefone. Era Verena Marquand. Aos prantos, ela quase não conseguia falar. – O que houve? – perguntou-lhe George.
– Medgar – respondeu ela, e então disse algo que ele não conseguiu entender. – Medgar Evers, você quer dizer? George o conhecia: era um ativista negro de Jackson, Mississippi, funcionário em tempo integral da NAACP, o mais moderado dos grupos defensores dos direitos civis. Fora ele quem havia investigado o assassinato de Emmett Till e organizado um boicote às lojas de brancos. Seu trabalho o transformara em uma figura nacional. – Ele levou um tiro. – Verena soluçava. – Bem na frente de casa! – Ele morreu? – Morreu. George, ele tinha três filhos... três! As crianças ouviram o tiro, saíram e encontraram o pai se esvaindo em sangue na entrada da garagem. – Jesus... – O que é que esses brancos têm na cabeça? Por que eles fazem isso com a gente, George? Por quê? – Não sei, princesa. Não sei mesmo.
Pela segunda vez, Bobby Kennedy mandou George para Atlanta com um recado para Martin Luther King. Ao ligar para Verena e marcar o encontro, ele falou: – Adoraria conhecer seu apartamento. Não conseguia entendê-la. Naquela noite, em Birmingham, eles tinham ido para a cama e sobrevivido a uma bomba racista, e ele se sentira muito próximo dela. Mas dias, depois semanas, haviam se passado sem que surgisse outra oportunidade para o sexo, e a intimidade entre os dois tinha evaporado. Apesar disso, quando ficou abalada com a notícia da morte de Medgar Evers, Verena não telefonara para Martin Luther King nem para o pai, mas para George. Agora ele não sabia qual era a natureza de seu relacionamento. – Claro – disse ela. – Por que não? – Vou levar uma garrafa de vodca. Tinha descoberto que vodca era a bebida alcoólica preferida dela. – Eu divido o apartamento com outra moça. – Levo duas garrafas, então? Ela riu. – Calma, garotão. Laura não vai se importar em sair à noite. Já fiz a mesma coisa por ela muitas vezes. – Isso quer dizer que você vai fazer o jantar? – Não sou grande coisa na cozinha. – Que tal você fritar uns bifes e eu fazer uma salada? – Você gosta de coisa fina.
– Por isso eu gosto de você. – Que lábia! Ele pegou o avião para lá no dia seguinte. Esperava passar a noite com Verena, mas não queria fazê-la sentir que dava isso por certo, portanto fez o check-in em um hotel e foi de táxi até seu apartamento. Seduzi-la não era o único assunto que ocupava sua mente. Da última vez que levara um recado de Bobby para King, sua opinião sobre o teor da mensagem era ambivalente. Dessa vez, quem tinha razão era Bobby, e George estava decidido a fazer o reverendo mudar de ideia. Assim, tentaria primeiro convencer Verena. Fazia calor em Atlanta em junho, e ela o recebeu usando um vestido curto sem mangas, que deixava à mostra seus longos braços levemente bronzeados. Estava descalça, o que o fez se perguntar se estaria usando alguma coisa por baixo do vestido. Cumprimentou-o com um beijo na boca, mas tão rápido que ele não soube bem o que significava. O apartamento era moderno, classudo, mobiliado com peças contemporâneas. Não poderia pagar aquilo com o salário que recebia de King, calculou George. Deviam ser os royalties dos discos de Percy Marquand que bancavam o aluguel. Ele pôs a vodca sobre a bancada da cozinha, e ela lhe passou uma garrafa de vermute e uma coqueteleira. Antes de preparar os drinques, ele falou: – Quero ter certeza de que você entende o seguinte: o presidente está na situação mais difícil de toda sua carreira política. O que está acontecendo agora é muito mais grave do que a Baía dos Porcos. Como era sua intenção, conseguiu deixá-la chocada. – Me explique por quê – pediu ela. – Por causa da Lei de Direitos Civis. Na manhã seguinte ao seu pronunciamento na TV , ou seja, na manhã depois de você me ligar para dizer que Medgar tinha sido assassinado, o líder da maioria na Câmara ligou para ele. Disse que seria impossível aprovar o projeto de lei agrícola, os financiamentos para transportes de massa, as ajudas a países estrangeiros e o orçamento espacial. O programa legislativo de Kennedy saiu completamente dos trilhos. Justamente como temíamos, os democratas sulistas estão se vingando. E a aprovação do presidente nas pesquisas caiu dez pontos da noite para o dia. – Mas a imagem internacional dele melhorou – assinalou Verena. – Talvez vocês tenham de segurar as pontas até a situação doméstica melhorar. – Estamos segurando, acredite. Lyndon Johnson está mostrando a que veio. – Johnson? Está brincando? – Não estou, não. – George era amigo de Skip Dickerson, um dos assessores do vicepresidente. – Sabia que a cidade de Houston desligou a energia nas docas para protestar contra a nova política de integração da Marinha durante as licenças em terra? – Sabia. Filhos da mãe. – Quem resolveu a questão foi Johnson.
– Como? – A NASA está planejando construir em Houston uma estação de rastreamento no valor de milhões de dólares. Ele ameaçou cancelar o projeto. Segundos depois, a cidade religou a energia. Nunca subestime Lyndon Johnson. – Quem dera tivéssemos mais atitudes como essa no governo! – É verdade. Mas os irmãos Kennedy eram muito detalhistas. Não queriam sujar as mãos. Preferiam ganhar a discussão pelo raciocínio. Consequentemente, não usavam muito Johnson; na verdade, desprezavam-no por causa do seu talento para a manipulação. George encheu a coqueteleira de gelo, despejou um pouco de vodca por cima e sacudiu. Verena abriu a geladeira e pegou dois copos de martíni. George serviu uma colherada de vermute em cada copo gelado, girou os copos para untar as laterais, em seguida despejou a vodca gelada. Verena completou cada drinque com uma azeitona. George gostou da sensação de fazerem algo juntos. – A gente forma uma boa equipe, não acha? – perguntou. Verena ergueu o copo e bebeu. – Você faz um bom martíni. Ele sorriu, meio decepcionado. Esperava uma resposta diferente, algo que afirmasse o seu relacionamento. Bebeu e disse: – É, faço mesmo. Verena tirou da geladeira alface, tomate e dois bifes de contra-filé. George começou a lavar a alface. Enquanto isso, direcionou a conversa para o verdadeiro objetivo da sua visita: – Eu sei que já conversamos sobre isso antes, mas o fato de o Dr. King se relacionar com comunistas não ajuda a Casa Branca. – E quem disse que ele se relaciona? – O FBI. Verena deu um muxoxo de desprezo. – Sei, aquela famosa e confiável fonte de informação sobre o movimento dos direitos civis... Pare com isso, George. Você sabe muito bem que, para J. Edgar Hoover, qualquer um que discorde dele é comunista, inclusive Bobby Kennedy. Cadê as provas? – Parece que o FBI tem provas. – Parece? Ou seja, você não viu. Bobby viu? George ficou envergonhado. – Hoover disse que a fonte é segura. – Hoover se recusou a mostrar as provas para o secretário de Justiça? Para quem ele acha que trabalha? – Pensativa, ela tomou um gole de martíni. – O presidente viu as provas? George não respondeu. Verena ficou ainda mais incrédula. – Hoover não pode dizer não ao presidente.
– Acho que o presidente decidiu evitar um confronto nessa questão. – Vocês são ingênuos, por acaso? George, escute o que eu vou dizer: não existem provas. Ele decidiu dar o braço a torcer. – Você provavelmente tem razão. Eu não acredito que Jack O’Dell e Stanley Levison sejam comunistas, embora sem dúvida já tenham sido um dia; mas será que você não vê que a verdade não importa? Há base para suspeita, e isso basta para prejudicar a credibilidade do movimento pelos direitos civis. E agora que o presidente propôs uma nova lei, ele também sai prejudicado. – George envolveu a alface lavada com um pano de prato e sacudiu os braços para secar as folhas. A irritação tornou seus gestos mais enérgicos do que o necessário. – Jack Kennedy pôs a carreira política em risco por causa dos direitos civis, e não podemos deixá-lo ser derrubado por causa de acusações de relacionamentos com comunistas. – Ele pôs a alface dentro de uma saladeira. – Livrem-se desses dois caras e pronto, problema resolvido! Verena falou em tom paciente: – O’Dell é funcionário da organização de Martin Luther King, assim como eu, mas Levison não está nem na folha de pagamento. É só um amigo e conselheiro de Martin. Você quer mesmo dar a J. Edgar Hoover o poder de escolher os amigos de Martin? – Verena, eles estão no caminho da proposta de Lei de Direitos Civis. Peça ao Dr. King para se livrar deles... por favor. Verena suspirou. – Acho que ele vai fazer isso. Sua consciência cristã está demorando um pouco para se acostumar com a ideia de rejeitar dois aliados de longa data, mas no final ele vai ceder. – O Senhor seja louvado. George ficou mais animado: pelo menos dessa vez poderia voltar a Bobby com boas notícias. Verena salgou os bifes e os pôs na frigideira. – E agora vou lhe dizer uma coisa: não vai fazer a menor diferença. Hoover vai continuar a vazar para a imprensa que o movimento pelos direitos civis é um disfarce para os comunistas. Ele faria isso mesmo que fôssemos republicanos desde criancinhas. J. Edgar Hoover é um mentiroso patológico que odeia os negros, e é uma pena que o seu chefe não tenha colhão para mandá-lo embora. George quis protestar, mas infelizmente a acusação era verdadeira. Ele fatiou um tomate para pôr na salada. – Você gosta do bife bem passado? – perguntou Verena. – Não muito. – Prefere mal? Eu também. Ele preparou mais dois martínis e eles se sentaram diante da pequena mesa para comer. George passou para a segunda parte do recado: – Ajudaria o presidente se o Dr. King cancelasse aquela maldita manifestação em Washington.
– Sem chance. King havia convocado um “imenso, militante e monumental protesto sentado” na capital, que ocorreria ao mesmo tempo que vários outros atos de desobediência civil país afora. Os irmãos Kennedy estavam consternados. – Pense no seguinte – disse George. – No Congresso, existem aqueles que sempre vão votar a favor dos direitos civis e aqueles que jamais farão isso. Quem importa são os que podem votar de um jeito ou de outro. – Os votos incertos – falou Verena, usando uma expressão em voga. – Exato. Eles sabem que a lei é moralmente correta, mas politicamente impopular, e estão atrás de desculpas para votar contra ela. A sua manifestação vai lhes dar a chance de dizer: “Eu sou a favor dos direitos civis, mas não sob a mira de uma arma.” Não é hora para isso. – Como diz Martin, para os brancos nunca é hora. George sorriu. – Você é mais branca do que eu. Ela deu uma viradinha na cabeça e arrematou: – E mais bonita. – É verdade. Você é praticamente a coisa mais bonita que já vi. – Obrigada. Coma. George empunhou garfo e faca. Os dois jantaram quase em silêncio. Ele elogiou Verena pelos bifes, e ela disse que, para um homem, ele sabia fazer uma boa salada. Quando terminaram, levaram os drinques para a sala, sentaram-se no sofá e George retomou sua argumentação: – Será que você não entende que agora é diferente? O governo está do nosso lado. O presidente está dando o melhor de si para aprovar a lei que estamos pedindo há anos. Ela balançou a cabeça. – Se nós aprendemos algo, é que as coisas mudam mais depressa quando mantemos a pressão. Você sabia que nos restaurantes de Birmingham os negros agora estão sendo servidos por garçonetes brancas? – Sabia, sim. Que reviravolta incrível. – E isso não foi conquistado com uma espera paciente. Isso aconteceu porque eles jogaram pedras e acenderam fogueiras. – A situação mudou. – Martin não vai cancelar o protesto. – Mas ele o modificaria? – Como assim? Esse era o plano B de George. – Será que a manifestação poderia ser uma simples passeata dentro da lei, em vez de um protesto? Os membros do Congresso talvez se sintam menos ameaçados. – Não sei. Pode ser que Martin considere essa possibilidade.
– Façam numa quarta-feira, para que as pessoas não queiram passar o fim de semana inteiro na cidade, e deixem o encerramento bem claro para os manifestantes irem embora bem antes de a noite cair. – Você está tentando diminuir o efeito da manifestação. – Se precisamos protestar, devemos fazer todo o possível para garantir que tudo corra sem violência e cause boa impressão, especialmente na TV. – Nesse caso, que tal colocar banheiros portáteis no trajeto da passeata? Bobby deve conseguir isso, mesmo que não consiga demitir Hoover. – Ótima ideia. – E que tal reunir alguns defensores brancos da causa? O protesto vai sair melhor na TV se houver manifestantes brancos entre os negros. George pensou um pouco. – Aposto que Bobby conseguiria fazer os sindicatos mandarem gente. – Se você conseguir prometer essas duas coisas como atrativos, acho que temos uma chance de fazer Martin mudar de ideia. George viu que Verena havia concordado com ele e estava agora falando em como convencer King. Já era meio caminho andado. – E, se você conseguir convencer o Dr. King a transformar o protesto em um desfile, acho que talvez consigamos o apoio do presidente. Ele estava esticando um pouco a corda, mas era possível. – Vou me esforçar ao máximo – disse ela. George passou o braço em volta dela. – Está vendo, nós somos uma boa equipe. – Ela sorriu e não disse nada. – Você não concorda? – insistiu ele. Verena o beijou. Foi igual ao seu último beijo: mais do que amigável sem chegar a ser sensual. – Depois que aquela bomba estourou a janela do meu quarto de hotel, você atravessou o quarto descalço para pegar meus sapatos – disse ela, em tom de reflexão. – Eu lembro – retrucou ele. – O chão estava coberto de cacos. – Foi por isso. Foi esse o seu erro. George franziu a testa. – Não estou entendendo. Achei que estivesse sendo gentil. – Exatamente. Você é bom demais para mim, George. – Como assim? Que maluquice! Mas ela estava séria. – Já fui para a cama com vários homens, George. Eu bebo. Sou infiel. Já transei com Martin uma vez. Ele arqueou a sobrancelha, mas não disse nada. – Você merece coisa melhor – continuou Verena. – Vai ter uma carreira maravilhosa.
Talvez seja o primeiro presidente negro. Precisa de uma esposa que seja fiel e trabalhe ao seu lado, que o apoie e fortaleça. Eu não sou essa mulher. George estava confuso. – Eu não estava olhando tão para o futuro. Só estava torcendo para conseguir beijá-la mais um pouco. Ela sorriu. – Isso eu posso fazer – falou. Ele a beijou lenta e demoradamente. Depois de algum tempo, acariciou a lateral de sua coxa e foi subindo por baixo da saia do vestido curto. Chegou com a mão até o quadril. Tinha razão: nada por baixo. Ela entendeu o que ele estava pensando. – Viu só? Menina malvada. – Eu sei. Sou louco por você mesmo assim.
CAPÍTULO VINTE E SEIS
Fora difícil para Walli ir embora de Berlim. Era a cidade onde Karolin morava e ele queria ficar perto dela. Só que isso não fazia sentido se os dois estivessem separados pelo Muro. Embora estivessem a menos de dois quilômetros de distância, ele nunca poderia vê-la. Não podia arriscar uma nova travessia da fronteira: da última vez, só não tinha morrido por pura sorte. Mesmo assim, achara difícil se mudar para Hamburgo. Dizia a si mesmo que entendia por que Karolin decidira ficar com a família para ter o bebê. Quem estava mais preparado para ajudá-la quando ela desse à luz, sua mãe ou um guitarrista de 17 anos? Mas a lógica daquela decisão era um parco consolo. Ele pensava nela à noite quando ia se deitar e assim que acordava pela manhã. Quando via uma garota bonita na rua, tudo o que conseguia sentir era tristeza por causa de Karolin. Ficava pensando em como ela estaria. Será que a gravidez estava lhe causando desconforto e enjoo ou será que ela estava esplendorosa? Será que os pais estavam bravos com ela ou animados com a ideia de ser avós? Eles trocavam cartas, e ambos sempre escreviam “eu te amo”. No entanto, hesitavam em esmiuçar as próprias emoções, pois sabiam que cada palavra seria examinada em detalhes por algum agente da polícia secreta no escritório da censura, talvez alguém que os dois conhecessem, como Hans Hoffmann. Era como declarar os sentimentos na frente de uma plateia desdenhosa. Eles estavam de lados opostos do Muro, e era como se estivessem a 2 mil quilômetros um do outro. Assim, Walli se mudara para o espaçoso apartamento da irmã em Hamburgo. Rebecca nunca o pressionava. Nas cartas que lhe escreviam, seus pais viviam lhe dizendo para voltar à escola, ou quem sabe começar um curso superior. Suas sugestões idiotas incluíam estudar para virar eletricista, advogado ou professor, como Rebecca e Bernd. A própria Rebecca, no entanto, nada dizia. Se ele passasse o dia inteiro no quarto tocando guitarra, ela não reclamava, só lhe pedia para lavar a xícara de café em vez de largá-la suja dentro da pia. Quando falava com ela sobre o futuro, a irmã perguntava: “Por que a pressa? Você tem 17 anos. Faça o que quiser e veja o que acontece.” Bernd se mostrava igualmente tolerante. Walli adorava Rebecca, e a cada dia que passava gostava mais de Bernd. Ainda não havia se acostumado com a Alemanha Ocidental. As pessoas lá tinham carros maiores, roupas mais novas e casas mais bonitas. O governo era criticado abertamente nos jornais e até na TV . Sempre que lia algum texto que atacava o envelhecido chanceler Adenauer, Walli se pegava olhando por cima do ombro, culpado, com medo de alguém flagrálo lendo material subversivo, e precisava lembrar a si mesmo que aquilo era o Ocidente, onde havia liberdade de opinião.
Apesar da tristeza de sair de Berlim, descobriu, para sua alegria, que Hamburgo era o centro da cena musical alemã. A cidade portuária recebia marinheiros do mundo inteiro. Uma rua chamada Reeperbahn era o centro do bairro da luz vermelha, cheia de bares, casas de strip-tease, clubes homossexuais meio secretos e muitos estabelecimentos de música ao vivo. Walli tinha dois desejos na vida: viver com Karolin e ser músico profissional. Um dia, pouco depois de se mudar para a cidade, percorreu a Reeperbahn com a guitarra pendurada no ombro e entrou em todos os bares para perguntar se eles precisavam de um cantor-guitarrista para divertir a clientela. Considerava-se um bom músico. Sabia cantar, tocar e agradar à plateia. Só precisava que alguém lhe desse uma chance. Depois de uns dez nãos, deu sorte em uma cervejaria chamada El Paso, que ficava em um porão. A decoração obviamente pretendia passar por americana: acima da porta pendia a cabeça de um boi da raça longhorn e as paredes exibiam cartazes de filmes de faroeste. O dono do lugar usava botas Stetson, mas chamava-se Dieter e falava alemão com sotaque do norte. – Você sabe tocar música americana? – perguntou ele. – Pode apostar – respondeu Walli, em inglês. – Se voltar às sete e meia eu faço um teste com você. – E quanto o senhor me pagaria? Embora ainda recebesse mesada de Enok Andersen, contador da fábrica de seu pai, Walli estava desesperado para provar que podia ser financeiramente independente e assim justificar sua recusa em seguir os conselhos de carreira dos pais. Mas Dieter fez uma cara levemente ofendida, como se ele tivesse dito algo mal-educado. – Toque por cerca de meia hora – falou, vago. – Se eu gostar de você, aí podemos falar em dinheiro. Apesar de inexperiente, Walli não era burro, e teve certeza de que aquela resposta evasiva significava que o dinheiro seria pouco. No entanto, como era a única proposta que tinha recebido em duas horas, aceitou. Foi para casa e passou a tarde montando uma apresentação de meia hora de músicas americanas. Decidiu começar com “If I Had a Hammer”, pois o público do Hotel Europa tinha gostado. Depois tocaria “This Land Is Your Land” e “Mess of Blues”. Embora não precisasse muito, ensaiou várias vezes todas as músicas escolhidas. Quando Rebecca e Bernd chegaram em casa depois do trabalho e ficaram sabendo da novidade, Rebecca disse que iria com ele. – Nunca vi você tocar para uma plateia. Só o vi brincando com o instrumento em casa sem nunca terminar a música que começava. Sua proposta de ir vê-lo tocar era muito simpática, sobretudo nessa noite em que ela e Bernd estavam muito animados com outra coisa: a visita de Kennedy à Alemanha. Para os pais de Walli e Rebecca, somente a firmeza americana havia impedido a União Soviética de ocupar Berlim Ocidental e incorporá-la à Alemanha Oriental. Para eles, Kennedy
era um herói. Walli, por sua vez, gostava de qualquer um que criasse dificuldade para o tirânico governo da Alemanha Oriental. Ele pôs a mesa enquanto sua irmã preparava o jantar. – Mamãe sempre nos ensinou que, se quiser alguma coisa, você tem de entrar para um partido político e fazer campanha por isso – disse ela. – Bernd e eu queremos que as duas Alemanhas se reunifiquem, para que nós e milhares de outros alemães possamos nos juntar outra vez a nossas famílias. Foi por isso que entramos para o Partido Democrático Livre. Walli queria a mesma coisa, de todo o coração, mas não imaginava como aquilo poderia acontecer. – O que você acha que Kennedy vai fazer? – perguntou. – Ele talvez diga que precisamos conviver com a Alemanha Oriental, pelo menos por enquanto. É verdade, mas não é o que queremos escutar. Se quer saber mesmo o que eu penso, espero que a visita dele seja bem desagradável para os comunistas. Depois de comer, eles assistiram ao noticiário. A imagem de seu televisor de última geração da Franck era em tons distintos de cinza, não borrada e verde como nos aparelhos antigos. Nesse dia, Kennedy tinha visitado Berlim Ocidental. O presidente americano fizera um discurso nos degraus da prefeitura, em Schönenberg. Em frente ao prédio havia uma grande esplanada, que ficou abarrotada de espectadores. Segundo o apresentador, a multidão era de 450 mil pessoas. O jovem e bem-apessoado presidente discursou ao ar livre, em frente a uma imensa bandeira dos Estados Unidos, com a brisa arrepiando seus fartos cabelos. Já começou em tom combativo: – Há quem diga que o comunismo é a onda do futuro. Eles que venham a Berlim! A plateia aprovou com um rugido estrondoso, que ficou ainda mais alto quando ele repetiu a mesma frase em alemão: – Lass’ Sie nach Berlin kommen! Walli viu que Rebecca e Bernd estavam felicíssimos com o discurso. – Ele não está falando em normalização nem aceitando de modo realista o status quo – comentou ela em tom de aprovação. Kennedy foi desafiador: – A liberdade tem muitos obstáculos, e a democracia não é perfeita. – Ele está se referindo aos negros – comentou Bernd. – Mas nós nunca tivemos de erguer um muro para impedir as pessoas de fugirem! – exclamou Kennedy com desdém. – É isso aí! – gritou Walli. O sol do mês de junho batia na cabeça do americano. – Todos os homens livres, onde quer que morem, são cidadãos de Berlim. Assim, como homem livre, tenho orgulho de dizer: Ich bin ein Berliner!
A multidão foi à loucura. Kennedy se afastou do microfone e guardou as anotações no bolso do paletó. Bernd exibia um largo sorriso. – Acho que os soviéticos vão entender o recado – comentou. – Kruschev vai ficar louco de raiva – disse Rebecca. – Quanto mais, melhor – opinou Walli. Ele e Rebecca estavam animados quando foram até a Reeperbahn no furgão que ela havia adaptado para Bernd e sua cadeira de rodas. O El Paso passara a tarde vazio, e agora tinha apenas uns poucos clientes. Dieter, o das botas Stetson, já não tinha sido muito simpático à tarde, e à noite se mostrou ainda mais mal-humorado. Fingiu ter esquecido de pedir para Walli voltar, e o rapaz temeu que ele fosse retirar a proposta de um teste, mas o dono do bar então apontou com o polegar para um diminuto palquinho em um canto. Além de Dieter, uma mulher de meia-idade e busto grande servia atrás do balcão, usando uma camisa quadriculada e uma bandana na cabeça: sua mulher, supôs Walli. Eles obviamente queriam imprimir ao seu estabelecimento uma atmosfera singular, mas nenhum dos dois tinha muito charme e o lugar não atraía muitos clientes, fossem eles americanos ou não. Walli torceu para talvez ser o ingrediente mágico que fosse atrair as multidões. Rebecca comprou duas cervejas. Walli plugou o amplificador e ligou o microfone. Estava animado. Aquilo era o que ele amava e sabia fazer. Olhou para Dieter e a mulher, perguntando-se quando eles queriam que começasse, mas, como nenhum dos dois demonstrou qualquer interesse nele, tocou um acorde e começou a cantar “If I Had a Hammer”. Os poucos clientes olharam para ele por um segundo, curiosos, em seguida voltaram às suas conversas. Rebecca bateu palmas animadas ao mesmo ritmo da música, mas ninguém a acompanhou. Mesmo assim, Walli deu tudo de si, dedilhando as cordas ritmadamente e cantando bem alto. Talvez fosse preciso duas ou três músicas, mas ele conseguiria conquistar aquela plateia, pensou. Na metade da canção, o microfone ficou mudo. O amplificador de Walli também. Era óbvio que a energia no palco tinha caído. Walli terminou a música sem amplificador, calculando que seria um pouco menos constrangedor do que parar no meio. Largou a guitarra e foi até o balcão. – A energia no palco caiu – falou para Dieter. – Eu sei – retrucou o dono da cervejaria. – Fui eu que desliguei. Walli ficou pasmo. – Por quê? – Não quero escutar aquela porcaria. Walli teve a sensação de ter levado um tapa. Sempre que se apresentara em público, as pessoas tinham gostado. Ninguém nunca lhe dissera que sua música era uma porcaria. O choque foi tão grande que ele sentiu um frio na barriga. Mal sabia o que dizer ou como se comportar.
– Eu pedi música americana – acrescentou Dieter. Não fazia o menor sentido. – Aquela música chegou ao topo das paradas nos Estados Unidos! – disse Walli, indignado. – O nome desta cervejaria é uma homenagem a “El Paso”, de Marty Robbins, a melhor música que já foi escrita. Pensei que você fosse tocar esse tipo de coisa. “Tennessee Waltz” ou “On Top of Old Smoky”, músicas de Johnny Cash, Hank Williams ou Jim Reeves. Jim Reeves era o músico mais chato da face da Terra. – Música country, o senhor quer dizer. Dieter não achou que precisasse de explicação. – Eu quero dizer música americana – falou, com a segurança dos ignorantes. De nada adiantava discutir com um bobo daqueles. Mesmo se tivesse entendido o que ele queria, Walli não teria tocado. Não queria ser músico para tocar “On Top of Old Smoky”. Voltou ao palco e guardou a guitarra no estojo. Rebecca tinha um ar atônito. – O que houve? – perguntou. – O dono do bar não gostou do meu repertório. – Mas ele não escutou nem uma música até o fim! – Ele acha que entende muito de música. – Pobre Walli! O desprezo cabeça-dura de Dieter, Walli podia aguentar, mas a pena de Rebecca lhe deu vontade de chorar. – Não faz mal – garantiu. – Eu não iria querer mesmo trabalhar para um babaca desses. – Vou dizer umas verdades para ele – falou Rebecca. – Não, por favor, não faça isso. Não vai ajudar em nada se minha irmã der uma bronca nele. – É, acho que não mesmo. – Vamos. – Ele pegou a guitarra e o amplificador. – Vamos para casa.
Dave Williams e o Plum Nellie chegaram a Hamburgo cheios de expectativa. Estavam vivendo uma ótima fase. Eram cada vez mais conhecidos em Londres, e agora iriam maravilhar a Alemanha. O gerente do The Dive se chamava Herr Fluck, nome que os integrantes do grupo acharam hilário. Um pouco menos engraçado foi o fato de ele não gostar muito do Plum Nellie. Pior ainda: depois de algumas noites, Dave começou a achar que ele estava certo. O grupo não estava dando aos clientes o que eles queriam. – Façam dançar! – dizia Herr Fluck, em inglês. – Façam dançar!
.
O principal interesse dos clientes do clube, todos adolescentes ou com 20 e poucos anos, era dançar. As músicas que tinham mais sucesso eram as que faziam as meninas irem para a pista dançar umas com as outras, para que os rapazes pudessem então chegar e formar os pares. De modo geral, no entanto, o grupo não conseguia gerar o tipo de animação que lotava a pista. Dave ficou arrasado. Aquela era sua grande chance, e eles a estavam estragando. Se não melhorassem, teriam de voltar para casa. “Pela primeira vez na minha vida eu sou bom em alguma coisa”, tinha dito ele ao pai cético, que no final das contas o deixara ir para Hamburgo. Será que teria de voltar para casa e reconhecer que havia fracassado naquilo também? Não conseguiu descobrir qual era o problema, mas Lenny, sim. – É o Geoff. – Geoffrey era o guitarrista solo. – Ele está com saudades de casa. – E por isso está tocando mal? – Não, por isso está bebendo, e a bebida o faz tocar mal. Dave começou a ficar mais perto da bateria e a dedilhar as cordas de sua guitarra com mais força e de modo mais ritmado, mas não adiantou muito. Percebeu que, quando um dos músicos não tocava bem, o grupo inteiro saía prejudicado. No quarto dia em Hamburgo, foi visitar Rebecca. Ficou encantado ao descobrir que tinha não só um, mas dois parentes na cidade, e que o segundo era um rapaz de 17 anos que tocava guitarra. Dave aprendera alemão na escola e Walli um pouco de inglês com sua avó Maud, mas ambos falavam a língua da música, e passaram a tarde trocando acordes e licks de guitarra. Nessa noite, Dave levou Walli até o The Dive e sugeriu que o clube o contratasse para tocar nos intervalos entre os sets do Plum Nellie. Walli tocou um novo sucesso americano chamado “Blowin’ in the Wind”, o gerente gostou e lhe deu o emprego. Uma semana depois, Rebecca e Bernd convidaram o grupo para comer em sua casa. Walli explicou à irmã que os rapazes trabalhavam até tarde da noite e acordavam ao meio-dia, então gostavam de comer por volta das seis, antes de subir ao palco. Rebecca não viu problema nenhum nisso. Quatro dos cinco aceitaram o convite; Geoff não iria. Rebecca havia preparado uma montanha de costeletas de porco regadas com um molho encorpado e acompanhadas por grandes tigelas de batatas fritas, cogumelos e repolho. Dave pensou que, de um jeito maternal, ela decerto queria garantir que eles fizessem pelo menos uma boa refeição na semana. Tinha razão em se preocupar: estavam todos sobrevivendo praticamente à base de cerveja e cigarros. Bernd ajudou a cozinhar e servir à mesa, movimentando-se com uma agilidade surpreendente. Dave ficou espantado ao constatar como Rebecca era feliz e apaixonada pelo marido. O grupo atacou a comida com vontade. Falavam uma mistura de alemão e inglês e, apesar...
O melhor da literatura para todos os gostos e idades