



Biblio VT




Quando eu era um menino, no Centro-Oeste, costumava sair e olhar para as estrelas, à noite, e cismava sobre elas.
Acho que todo menino já fez isso.
Quando não estava olhando para as estrelas, eu estava correndo com meus tênis, velhos ou novos em folha, a caminho de me balançar numa árvore, ou afundar-me na biblioteca da cidade para ler sobre dinossauros, ou Máquinas do Tempo.
Acho que todo menino já fez isso, também.
Este é um livro sobre aquelas estrelas e aqueles pares de tênis. Principalmente sobre as estrelas, porque foi assim que cresci, ficando mais e mais envolvido com foguetes e espaço à medida que me aproximava dos doze, treze, e catorze anos de idade.
Não que eu tenha me esquecido dos pares de tênis e sua magia poderosa, como você vai ver na última história, que incluí não porque concerne ao Futuro, mas porque lhe dá alguma idéia do tipo de menino que eu era quando estava olhando para as estrelas e pensando nos Anos à Frente.
Tampouco esqueci os dinossauros que todos os meninos gostam; eles estão aqui, também, junto com u'a Máquina que viaja para trás no Tempo, para pisar numa borboleta.
Este é um livro, pois, de um menino que cresceu numa pequena cidade do Illinois e viveu para ver a Era Espacial chegar, como ele esperava e sonhava que fosse.
Dedico estas histórias a todos os meninos que se intrigam com o Passado, correm velozmente pelo Presente, e têm elevadas esperanças para nosso Futuro.
As estrelas são suas, se você tem a cabeça, as mãos, e o coração para elas.
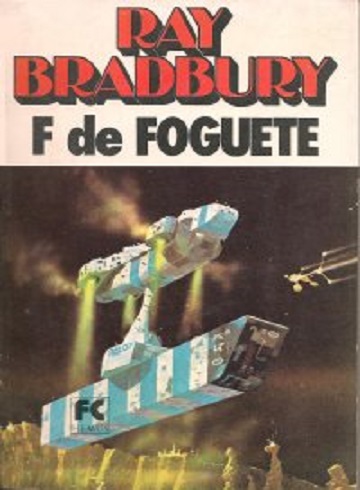
Havia aquela cerca contra a qual espremíamos o rosto e sentíamos o vento aquecer-se e agarrávamo-nos à cerca e esquecíamos quem éramos ou de onde vínhamos mas sonhávamos com quem, poderíamos ser e para onde poderíamos ir...
No entanto éramos meninos e gostávamos de ser meninos e vivíamos numa cidade da Flórida e gostávamos da cidade e íamos à escola e até que gostávamos da escola e subíamos em árvores e jogávamos futebol e gostávamos de nossas mães e pais...
Mas eventualmente a cada hora de cada dia de cada semana por um minuto ou segundo quando pensávamos em fogo e estrelas e a cerca além da qual esperavam... gostávamos mais dos foguetes.
A cerca. Os foguetes.
Toda manhã de sábado...
Os caras se reuniam na minha casa...
Com o sol mal se erguendo, eles gritavam até que os vizinhos eram levados a brandir revólveres paralisadores através de seus ventiladores, mandando que caiassem a boca ou virariam estátuas congeladas pela próxima hora, e então o que seria deles?
Ora, vá subir num foguete e espetar a cabeça no jato principal! Era o que os meninos sempre respondiam, gritando, mas gritavam isto em segurança, atrás da cerca de nosso jardim. O Velho Wickard, da casa do lado, tem ótima pontaria com o paralisador.
Nesta ainda escura e fresca manhã de sábado eu estava na cama pensando como eu tinha sido reprovado no exame de semântica no dia anterior no curso de fórmulas, quando escutei a turma gritando lá embaixo. Ainda não eram 7 da manhã è ainda havia muita neblina sobre o Atlântico, e só agora os vibradores do controle climático estavam começando a zumbir em cada esquina e disparando raios para se livrar daquela coisa; escutava-os murmurando agradável e suavemente.
Fui devagar até a janela, e pus a cabeça para fora.
— OK, piratas do espaço, cortem os motores!
— Ei! — gritou Ralph Priory. — Acabamos de ouvir que há um vôo para hoje! O foguete lunar, aquele com o novo motor XL-3, estará cortando a gravitação em uma hora!
— Buda, Maomé, Alá e outras figuras reais e mitológicas! — exclamei, e afastei-me da janela tão depressa que a onda de choque derrubou todos os meninos no gramado.
Fechei o zíper de minha jardineira, puxei as botas, cápsulas de comida no bolso, pois eu sabia que não haveria comida, e nem mesmo se pensaria em comida hoje, apenas engoliríamos pílulas quando nossos estômagos gritassem, e caí dois andares pelo elevador a vácuo.
No gramado, todos os cinco estavam mordendo os lábios, inquietos e furiosos.
— O último - disse-lhes, passando a 5.000 mph — ao chegar ao monotrilho é um marciano de olho na mosca!
No monotrilho, com o cilindro nos soprando até o espaçoporto, a vinte milhas da cidade, uma corrida de alguns minutos, estava com calafrios no estômago. Um cara de quinze anos não vê muitas vezes as naves grandes, durante a semana, na maioria, eram pequenos foguetes continentais de carga indo e vindo rotineiramente. Mas este era grande, dentre os maiores... a Lua, e além...
— Estou com ânsias — disse Priory, cutucando-me o braço. Devolvi o golpe. — Eu também. Rapaz, sábado não é o melhor dia da semana?!
Priory e eu trocamos amplos sorrisos de compreensão. Estávamos todos em "Condition Go" [Condições positivas para decolagem, no jargão astronáutico (N.T.)]. Os outros piratas estavam OK. Sid Rossen; MacLeslyn; Earl Marnee, sabiam pular por aí como todos os meninos, e gostavam dos foguetes, também, mas eu sentia que eles não iriam fazer o mesmo que Ralph e eu, algum dia. Ralph e eu queríamos as estrelas para cada um de nós, mais do que almejaríamos u'a mancheia de diamantes azuis lapidados.
Gritávamos com os ruidosos, ríamos com os risonhos, mas no meio de tudo aquilo, estávamos estáticos, Ralph e eu, e o cilindro sussurrou sua parada e estávamos fora, gritando, rindo, correndo, mas quietos, e quase em câmara lenta, Ralph à minha frente, e todos numa mesma direção, a cerca de observação, precipitando-nos, e gritando para que os retardatários se apressassem, mas sem olhar para trás e então estávamos todos juntos e o grande foguete saiu de sua coberta de plástico como que de uma grande tenda de circo interestelar e moveu-se ao longo de seu trilho brilhante para o ponto de disparo, acompanhado pelos guindastes gigantescos, como um bando de pássaros reptilianos pré-históricos que mantinham e aprumavam e alimentavam este grande monstro ígneo e levavam-no para seu despertar num súbito céu de fornalha.
Parei de respirar. Nem sequer aspirei de novo, acho até que o foguete estava longe na pista de concreto, seguido por tratores da forma e tamanho de insetos, e grandes cilindros ocultando homens, e todos à sua volta, louva-a-deuses em forma de mecânicos, que grasnavam e zumbiam e papagueavam uns com os outros com radiofones invisíveis, inaudíveis, mas podíamos escutar tudo, em nossas cabeças, nossas mentes, nossos corações.
— Meu Deus — disse eu, afinal.
— Meu bom Deus - disse Ralph Priory, perto de meu cotovelo.
Os outros também disseram o mesmo, de novo, e de novo.
Era algo para se dizer "meu Deus". Eram cem anos de sonhos escolhidos e separados, e reunidos para compor o sonho mais rijo, belo e rápido, de todos. Cada linha era fogo solidificado e tornado perfeito, era chama congelada, e gelo esperando para derreter ali no meio de uma pradaria de concreto, pronto para acordar com um rugido, pular bem alto e bater com sua grande cabeça, estupidamente fina contra a Via-láctea e derrubar as estrelas, respondendo com uma chuva de meteoros de fogo. Você se sentia como se pudesse acertar a nebulosa Saco de Carvão bem no diafragma e fazê-la sair do caminho.
Isso também me acertava no diafragma; atingia-me de modo a me fazer conhecer aquela nostalgia especial, e inveja, e lamento pela falta de algo. E quando os astronautas percorreram o campo naquele furgão silencioso do fim, meu corpo ia com eles em sua estranha armadura, em seus capacetes de bolha, altaneiramente despreocupados, como se estivessem no desfile de um time de futebol magnético num campo local, só para treinar. Mas estavam todos indo para a Lua, iam todos os meses, agora, e as multidões que costumavam estar lá para assistir, não mais iam, apenas nós, para nos preocuparmos com seu embarque e sua partida.
— Puxa — falei. — O que eu não daria para ir com eles; o que eu não daria.
— Eu - disse Mac — daria meus passes de monotrilho de um ano inteiro.
— É... ah, sim, claro que sim.
Era um grande sentimento para nós crianças, apanhados entre os brinquedos da manhã e a pirotecnia real e poderosa desta tarde.
E então os preliminares estavam finalizados. O combustível estava no foguete e os homens se afastaram correndo pelo chão como formigas recuando ante um deus de metal... e o Sonho acordou, e deu um grito e saltou para ò céu. E então tinha partido, todo o vácuo proclamando isto, deixando nada, senão um tremor aquecido pelo ar, pelo chão, e subindo pelas nossas pernas até nossos corações. Onde tinha estado, estava u'a marca, calcinada e uma névoa de fumaça do foguete, como um cumulus a baixa altura.
— Já se foi! — gritou Priory.
E todos começamos a respirar depressa de novo, congelados ali no chão, como que entorpecidos pela rajada de um enorme paralisa-dor.
— Quero crescer depressa — disse então — quero crescer depressa, para poder pilotar aquele foguete.
Mordi os lábios. Eu era tão jovem, e não se pode candidatar a trabalhar no espaço. Você precisa ser escolhido. Escolhido. Finalmente alguém, acho que foi Sidney, sugeriu:
— Vamos ao teleshow, agora.
Todos disseram sim, exceto Priory e eu. Dissemos não, e os outros meninos foram-se rindo a não mais poder, conversando, e deixaram Priory e eu ali, olhando para o local onde estivera a espaçonave.
Estragou tudo para nós... aquela decolagem.
Por causa dela, fui reprovado no exame final de semântica, na segunda-feira.
Não me importei.
Em ocasiões como aquela, agradecia a Providência pelos concentrados. Quando seu estômago não e nada senão u'a massa enroscada de excitação, você dificilmente se sente disposto a puxar uma cadeira para uma refeição quente completa. Alguns tabletes engolidos, serviam maravilhosamente como substitutos, sem a urgência do apetite.
Mas fiquei pensando no assunto, intensa e repetidamente, todo o dia, e até tarde da noite. Fiquei tão mal que precisei usar massagem mecânica para dormir todas as noites, junto com a música mais suave de Tchaikovsky para conseguir fechar os olhos.
— Meu Deus, meu jovem — dizia meu professor, naquela segunda-feira, na escola. — Se isto continua, vou ter que reclassificá-lo na próxima reunião do quadro de psicólogos.
— Lamento — repliquei.
Olhou firme para mim. - Que espécie de bloqueio você arranjou? Deve ser muito simples, e também consciente.
Hesitei. — É consciente, professor, mas não é simples. É multi-tentacular. Em resumo, porém... são os foguetes.
Ele sorriu. — F de Foguete, heín?
— É, creio que sim...
— Não podemos deixar que interfira com seu desempenho escolar mesmo assim, rapazinho.
— O senhor acha que eu preciso de sugestão hipnótica?
— Não; não. - Manuseava um pequeno maço de registros com o meu nome escrito. Eu sentia como que uma pedra esquisita na barriga, ficando ali. Olhou para mim. - Sabe, Christopher, você é o maioral, por aqui; líder de sua classe. — Fechou os olhos e divagou. — Precisaremos ver uma porção de outras coisas — concluiu. Então deu-me um tapinha no ombro.
— Bem; continue com seu trabalho. Não tem com que se preocupar.
Afastou-se.
Tentei voltar ao trabalho, mas não conseguia. Pelo resto do dia o professor ficou olhando para mim, e olhando para o meu histórico, e mordendo o lábio. Por volta das duas horas da tarde, discou um número em seu áudio de mesa e discutiu algo com alguém, por cinco minutos.
Não pude ouvir o que foi dito.
Mas quando pousou o áudio em seu apoio, olhou diretamente para mim com um brilho estranhíssimo nos olhos.
Era de inveja e admiração e piedade, tudo misturado. Era um pouco triste e tinha muito de alegria. Havia muito ali, dentro de seus olhos. O resto de seu rosto não dizia nada.
Fazia me sentir como um santo e um demônio sentado ali.
Ralph e eu deslizamos para casa, saindo da escola de fórmulas, no começo daquela tarde. Contei a Ralph o acontecido e ele enrugou a testa, do modo sombrio que sempre fazia.
Comecei a preocupar-me. E juntos, duplicamos e triplicamos a preocupação.
— Não acha que vai ser mandado embora, não, Chris?
Nosso carro do monotrilho chiou. Paramos na nosso estação. Descemos. Caminhamos devagar. — Não sei - respondi.
— Seria muita sujeira — falou Ralph.
— Talvez eu precise de uma boa lavagem psiquiátrica, Ralph. Não posso continuar indo mal nos estudos, assim.
Paramos fora de minha casa e olhei longamente para o céu. Ralph disse algo engraçado.
— As estrelas não aparecem de dia, mas podemos vê-las, não, Chris?
— É... — respondi — tem toda a razão.
— Ficaremos juntos, hein, Chris? Danem-se eles, não podem mandá-lo embora agora. Somos amigos. Não seria justo.
Não disse nada, porque não havia espaço em minha garganta para nada, exceto um volume hectagonal.
— O que há com seus olhos? — perguntou Priory.
— Ora, olhei muito tempo para o sol. Vamos entrar, Ralph. Gritamos sob o chuveiro, no cubículo de banhos, mas nossos gritos não eram muito convincentes, mesmo quando ligamos a água fria.
Enquanto estávamos no secador a ar quente, pensei bastante. A literatura, considerava, estava cheia de pessoas que combateram batalhas contra oponentes duros e afiados como navalha. Afundaram cérebro e músculos contra obstáculos, até que venceram, ou foram derrotados. Mas aqui estava eu com quase nenhum sinal externo de conflito. Estava correndo com botas com espeques dentro de minha cabeça, fazendo cortes e ferimentos onde ninguém podia vê-los, exceto eu e um psicólogo. Mas era igualmente ruim.
— Ralph — eu disse, enquanto nos vestíamos — estou numa guerra.
— Sozinho? - perguntou.
— Não posso incluir você, porque é pessoal. Quantas vezes minha mãe disse "Não coma muito, Chris, seus olhos são maiores que seu estômago?"
— Um milhão de vezes.
— Dois milhões. Bem, parafraseando, Ralph. Mude para: "Não veja tanto, Chris, sua mente é muito grande para seu corpo". Arranjei uma guerra entre uma mente que almeja coisas que o corpo não pode dar.
Priory assentiu, quieto. — Vejo o que você quer dizer com uma guerra pessoal. Nesse caso, Christopher, eu também estou em guerra.
— Eu sabia que estava — retruquei. — De alguma forma, eu acho que os outros caras vão superar isso, mas não nós, Ralph. Creio que ficaremos esperando.
Sentamo-nos no meio do ensolarado terraço superior da casa, e começamos a verificar parte da lição de casa em nossas pranchetas de fórmulas. Priory não conseguiu fazer nada. Tampouco eu. Priory pôs em palavras exatamente aquilo que eu não ousara dizer em voz alta.
— Chris, a Junta Astronáutica seleciona. Você não pode alistar-se . Você espera.
— Eu sei.
— Você espera desde o tempo em que tem idade para sentir um frio na barriga quando vê um foguete lunar, até que os anos passam, e a cada mês que passa você espera que uma manhã um helicóptero azul da Junta descerá do céu, no seu jardim, e que um engenheiro de aspecto afável vai sair, subir a rampa, e tocar a campainha.
— Você continua esperando por aquele helicóptero até fazer vinte e um anos. E então, no último dia do seu vigésimo ano, você bebe e ri bastante, e diz, que diabo, afinal eu não me importava muito mesmo com isso.
Ambos ficamos ali, imersos no meio daquelas palavras. Ambos nos sentamos. E então:
— Eu não quero esse desapontamento, Chris. Tenho quinze anos, como você. Mas se eu chegar aos vinte e um sem um astronauta tocando a campainha onde moro, no ortoposto, eu...
— Eu sei — interrompi. — Eu sei. Já conversamos com homens que esperaram, e tudo para nada. E se acontecer assim conosco, Ralph, bem... vamos nos juntar e nos embebedar e então vamos nos empregar num cargueiro para a Europa.
Ralph empertigou-se e empalideceu. — Trabalhar num cargueiro. Passos suaves e rápidos, na rampa, e lá estava minha mãe. Sorri.
— Olá, madame!
— Olá. Olá, Ralph.
— Olá, Jhene.
Ela não parecia ter muito mais do que vinte e cinco anos, a despeito de ter me posto no mundo e me criado, e trabalhava no Setor de Estatística do governo. Ela era leve e graciosa e sorridente, e eu podia ver como meu pai deve tê-la amado muitíssimo quando estava vivo. Pobre Priory, porém, criado num daqueles postos ortopédicos...
Jhene aproximou-se e acariciou Ralph. — Você parece doente — falou — o que está errado?
Ralph conseguiu um sorriso passável. — Nada... nada, mesmo.
Jhene não se fez de rogada. — Pode ficar aqui esta noite, Priory. É o que queremos, não, Chris?
— Claro que sim.
— Eu deveria voltar ao posto - argumentou Ralph fracamente, pelo que observei. — Mas como você está pedindo e Chris precisa de ajuda na semântica, para amanhã, ficarei e vou ajudá-lo.
— Quanta generosidade — aparteei.
— Primeiro, tenho algumas coisinhas a fazer. Vou pegar o "trilho" e volto numa hora, pessoal.
Quando Ralph se foi, minha mãe olhou para mim seriamente, então afagou meu cabelo para trás com um gesto curto e gentil de seus dedos.
— Algo está acontecendo, Chris.
Meu coração parou de falar, porque eu não queria falar mais, por um pouco. Esperava.
Abri a boca, mas Jhene continuou:
— Algo está acontecendo em algum lugar. Telefonaram-me duas vezes no trabalho, hoje. Uma vez era seu professor. Uma, ...não posso dizer. Não quero dizer até que as coisas aconteçam...
Meu coração voltou a falar de novo, cálido e lento.
— Não me diga, então, Jhene. Aquelas chamadas...
Ela apenas olhava para mim. Tomou minha mão entre as suas, suaves e quentes. - Você é tão jovem, Chris. Tão terrivelmente jovem.
Não falei.
Seus olhos acenderam-se. — Você não chegou a conhecer seu pai. Gostaria que o conhecesse. Sabe o que ele fazia?
— Sim; trabalhava num laboratório de química, no subterrâneo quase todo o tempo.
E minha mãe acrescentou, de modo muito esquisito. — Ele trabalhava embaixo da terra, Chris, e nunca viu as estrelas...
Meu coração urrou em meu peito. Um grito alto e pungente.
— Oh, mamãe, mamãe...
Era a primeira vez, em muitos anos, que a chamava de mãe.
Quando acordei na manhã seguinte, havia muito sol no quarto, mas o colchão onde Priory dormiu, estava vazio. Escutei. Não estava tomando banho, e o secador não estava zumbindo. Tinha-se ido.
Encontrei a nota espetada na porta deslizante.
— Vejo-o na fórmula, à tarde. Sua mãe quis que eu fizesse algumas coisas para ela. Recebeu um telefonema esta manhã, e disse que eu precisava ajudá-la. Até logo. Priory.
Priory fazendo serviços para Jhene. Estranho. Um telefonema de manhã bem cedo para Jhene. Voltei e sentei-me no colchão.
Enquanto estava lá sentado, a turma gritou lá fora, no jardim: — Ei, Chris! Está atrasado!
Pus a cabeça pela janela. — Já desço!
— Não, Chris.
A voz de minha mãe. Era serena e tinha algo escondido nela. Virei-me. Ela estava na soleira da porta atrás de mim, rosto pálido, tenso, cheio de uma dor pequenina. - Não, Chris - disse de novo, baixinho. Diga-lhes para irem para a fórmula sem você, hoje.
Os rapazes ainda deviam estar fazendo barulho lá embaixo, mas eu não os ouvia. Apenas sentia, eu e minha mãe, esguia e pálida, e constrangida, em meu quarto. À distância, os vibradores do controle climático começaram a zumbir e trepidar.
Voltei-me lentamente e olhei meus amigos lá embaixo. Os três estavam olhando para cima, bocas meio abertas, quase sorrindo, plaquetas de semântica em seus dedos magros. — Ei... — disse um deles. Era Sidney.
— Desculpe, Sid; desculpe, turma. Vão sem mim. Não posso ir à "fórmula", hoje. Vejo-os depois, hein?
— Ora, Chris!
— Doente?
— Não. Apenas... Vão sem mim, pessoal; vejo-os mais tarde. Sentia-me entorpecido. Afastei-me de seus rostos voltados para cima, interrogativos, e olhei para a porta. Minha mãe não estava lá. Tinha descido, silenciosamente. Ouvi os garotos afastando-se, não tão turbulentamente, rumo à estação do monotrilho.
Ao invés de usar o vácuo-elevador, caminhei devagar para baixo.
— Jhene — eu disse — onde está Ralph?
Jhene fingiu estar interessada em pentear seus longos e leves cabelos com um pente de dentes vibráteis. — Mandei-o passear. Não o queria aqui esta manhã.
— Por que devo ficar e não ir à escola, Jhene?
— Chris, por favor, não faça perguntas.
Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, um som pelo ar. Penetrava mesmo pela parede à prova de som da casa/e vibrava em minha medula, veloz e alto como uma seta de resplendente musicalidade.
Engoli em seco. Todo o medo, e incerteza, e dúvida, foram-se, instantaneamente.
Quando ouvi aquele som, pensei em Ralph Priory. — Oh, Ralph, se você pudesse estar aqui, agora. — Eu não podia acreditar na realidade daquilo. Ouvindo aquele som, e ouvindo com todo o meu corpo e alma, tanto quanto com meus ouvidos.
Aproximava-se, aquele som. Eu receava que se afastasse. Mas não. Tornou-se mais grave e desceu do lado de fora da casa em grandes pétalas rotativas de luz e sombra, e eu percebi que era um helicóptero da cor do céu. Seu barulho cessou, e no silêncio, minha mãe inclinou-se para frente, tensa, deixou cair o vibropente, e suspendeu a respiração.
Naquele silêncio, também, ouvi passos subindo a rampa, lá embaixo. Passos que eu longamente esperara.
Alguém tocou a campainha.
E eu sabia quem era.
E tudo o que eu podia pensar era, Ralph, que diabo, tinha de ir embora agora, quando tudo isto acontece? Caramba, Ralph, por que foi?
O homem parecia como se tivesse nascido dentro daquele uniforme. Caía-lhe como uma segunda camada de pele cor-de-sal, retocada aqui e ali com uma linha, ou um azul. Um uniforme tão simples e perfeito quanto podia ser, mas com toda a força musculosa do universo por detrás.
Seu nome era Trent. Falava com voz firme, com uma perfeição naturalmente arqueada, diretamente ao assunto.
Eu ficava ali, e minha mãe estava no outro extremo da sala, parecendo uma menininha assustada. Fiquei escutando.
De todo o falatório, lembro-me de algumas partes:
"... notas mais altas, alto QI. Percepção A-1, curiosidade três A. Entusiasmo necessário ao longo esforço educacional, de oito anos..."
— Sim, senhor.
"...conversando com seus professores de semântica e psicologia..."
—Sim, senhor.
"...e não esqueça, Sr. Christopher..."
Senhor Christopher!
"...e não se esqueça, Sr. Christopher, ninguém deve saber que foi selecionado pela Junta Astronáutica."
— Ninguém?
— Sua mãe e seu professor sabem, naturalmente. Mas ninguém mais. Compreendeu bem?
— Sim, senhor.
Trent sorriu, quieto, de pé, com suas grandes mãos ao longo do corpo. — Quer perguntar por que, não? Por que não pode contar a seus amigos? Vou explicar.
— É uma forma de proteção psicológica. Selecionamos cerca de dez mil rapazes a cada ano, dentre os bilhões, da Terra. Deste número, três mil saem, oito anos depois, como homens do espaço, de uma espécie ou outra. Os outros devem voltar à sociedade. Falharam, mas não há razão para que todos saibam. Usualmente fracassam, se é o caso, nos primeiros seis meses. E é duro voltar e encarar os amigos, e dizer que não conseguiu manter o passo no maior emprego do mundo. De modo que facilitamos a volta.
— Mas ainda há outra razão. É psicológica, também. Metade da graça de ser criança é poder se gabar perante os outros, sendo de alguma forma, superior. Tiramos metade da graça da nossa seleção de astronautas proibindo-lhes estritamente de contar algo para seus amigos. Então, você vai saber se queria ir para o espaço por razões frívolas, ou pelo espaço, em si. Se você está empenhado por vanglória, está perdido. Se você se empenha porque não vê outro caminho e precisa ser assim, então está salvo.
Fez uma vênia para minha mãe. — Obrigado, Sr. Christopher.
— Senhor — eu disse. — Uma pergunta. Tenho um amigo, Ralph Priory. Ele vive num ortoposto... [No original: "orthopedical stations"; o autor desejaria dizer, talvez, "postos ortopedagógicos", uma evolução dos atuais orfanatos. (N.T.)]
Trent fez que sim. — Não posso comunicar-lhe sua classificação, claro, mas ele está em nossa lista. É seu amigo? Quer que o acompanhe, claro. Verificarei seus registros. Criado num posto, você disse?
Não é muito bom. Mas... veremos.
— Se puder, obrigado.
— Apresente-se a mim no Espaçoporto, na tarde de sábado, às cinco, Sr. Christopher. Entrementes: silêncio.
Saudou. Saiu. Foi-se com o helicóptero, pelo céu, e minha mãe logo estava a meu lado, dizendo: — Oh, Chris, Chris — repetidamente, e nos amparamos e sussurramos, e conversamos e ela disse muitas coisas, como isso seria ótimo para nós, especialmente para mim, como era bom, e que honra significava, como nos velhos dias, quando os homens jejuavam e faziam votos e juntavam-se a igrejas e continham suas línguas e ficavam em silêncio e rezavam para serem dignos e viverem bem como monges e padres em muitas igrejas em lugares remotos, e saíam, e andavam pelo mundo e serviam de exemplos e ensinavam bem. Não era diferente agora, era um sacerdócio maior, de certo modo, ela disse, ela inferia, ela sabia, e eu deveria ser uma parcela disto, e não mais seria dela, e pertenceria a todos os mundos, seria todas as coisas que meu pai quis ser e nunca viveu nem teve chance para ser...
— Tem razão, toda a razão — murmurei — vou, prometo que sim...
— Controlei minha voz — Jhene... como... como vamos contar a Ralph? Que fazer?
— Você vai embora, é tudo, Chris. Diga-lhe isso. Muito simplesmente. Não lhe diga mais nada. Ele entenderá.
— Mas Jhene, você...
— Ela sorriu, docemente. — Sim, ficarei só, Chris. Mas terei meu trabalho, e terei Ralph.
— Quer dizer que...
— Vou tirá-lo do ortoposto. Ele viverá aqui, enquanto você estiver fora. É o que você queria que eu dissesse, não é, Chris?
Assenti, todo paralisado, e esquisito por dentro.
— É exatamente o que eu queria que você dissesse.
— Ele será um bom filho, Chris. Quase tão bom quanto você.
— Ele será excelente!
Contamos a Ralph Priory. Como eu iria embora talvez para uma escola na Europa, por um ano, e como mamãe queria que ele viesse viver como filho dela, agora, até a hora de eu voltar. Dissemos isto bem depressa, como se queimasse nossas línguas. E quando acabamos, Ralph veio e apertou minha mão e beijou minha mãe no rosto e disse:
— Terei muito orgulho disso, muito mesmo.
Engraçado, Ralph não perguntou nada mais sobre por que eu estava indo, ou aonde, ou quanto tempo eu ficaria fora. Tudo o que pôde dizer foi: — Nos divertimos bastante, não? — e ficou por aí, como se não se atrevesse a dizer mais.
Era noite de sexta-feira, depois de um concerto no anfiteatro na sede de nosso clube cívico, e Priory e Jhene e eu voltávamos para casa, rindo, prontos para irmos dormir.
Não tinha preparado bagagem nenhuma. Priory notou isto brevemente, e deixou passar. Todas as minhas necessidades pessoais pelos próximos oito anos seriam proporcionadas por alguém mais. Não havia necessidade de levar nada.
Meu professor de semântica chamou-me pelo áudio, sorrindo e dizendo um até-logo sorridente e agradável.
Então, fomos dormir, e continuei pensando no passeio de uma hora atrás, a última noite com Jhene e Ralph. A última de todas.
Apenas um garoto de quinze anos... eu.
E então, no escuro, pouco antes de eu adormecer, Priory virou-se um pouquinho em seu colchão, voltou seu rosto solene para mim, e cochichou — Chris? — Uma pausa — Chris; ainda acordado? — Era como um eco distante.
— Sim — respondi.
— Pensando? Uma pausa.
— Sim.
Ele disse — Você... você não está esperando mais, não é, Chris?
Eu sabia o que ele queria dizer. Eu não podia responder.
Disse-lhe — Estou terrivelmente cansado, Ralph.
Virou-se de novo, acomodou-se, e falou: — É o que pensava. Você não está mais esperando. Puxa, isso é muito bom, Chris. Muito bom.
Esticou o braço e bateu no meu, de leve.
Então pusemo-nos a dormir.
Era manhã de sábado. Os meninos estavam gritando lá fora. Suas vozes enchiam a neblina das sete horas. Ouvi o ventilador do Velho Wickard abrir-se e o "ziip" de seu paralisador brincando alegremente à volta deles.
— Calem-se! — Ouvi-o gritar, mas ele não soava agressivo. Era a brincadeira de todo sábado com ele. E ouvi o pessoal rindo.
Priory acordou e disse: — Devo dizer-lhes que você não vai hoje?
— Não lhes diga nada disso — Jhene veio pela porta. Apareceu, pela janela, seu cabelo luminoso contra uma faixa de neblina. — Olá turma! Ralph e Chris descem logo. Mantenham a gravidade!
— Jhene! — gritei.
Ela veio para nós. — Vão passar o sábado como sempre o fizeram: com a sua turma!
— Planejava ficar com você, Jhene.
— Mas que feriado seria, então?
Apressou-nos para o desjejum, beijou-nos no rosto, e empurrou-nos pela porta, para os braços da turma.
— Não vamos ao espaçoporto hoje, pessoal.
— Ora, Chris, por que não?
Seus rostos indicavam surpresa. Era a primeira vez na história que eu não desejara ir. — Está brincando, Chris.
— Claro que está.
— Não, não está; é exatamente o que quer dizer — interrompeu Priory. — E eu também não quero ir. Vamos todos os sábados. Fica cansativo. Poderemos ir na semana que vem.
— Ahh...
Não gostaram, mas não foram sozinhos. Não tinha graça, disseram, sem nós.
— Caramba — iremos na semana que vem.
— Claro que sim. Que quer fazer, Chris? Disse-lhes.
Passamos a manhã brincando de Chutar a Lata e outras brincadeiras de que desistíramos havia muito, e andamos ao longo de alguns velhos trilhos de uma ferrovia abandonada, e passeamos num pequeno bosque fora da cidade e fotografamos alguns pássaros e fomos nadar, e todo o tempo, eu ficava pensando: este é o último dia.
Fizemos de tudo o que já fizéramos num sábado. Todas aquelas coisas malucas, e ninguém sabia que eu estava indo embora, exceto Ralph, e as cinco da tarde se aproximavam cada vez mais.
Às quatro, despedi-me deles.
— Indo embora tão cedo, Chris? E hoje à noite?
— Chamem-me às oito — eu disse. — Vamos ver o novo filme da Sally Gibberts!
— 'Tá bem.
— Cortar gravidade!
E Ralph e eu fomos para casa.
Mamãe não estava lá, mas deixara parte de si mesma, seu sorriso e sua voz, e suas palavras, num rolo de áudio-filme, em minha cama. Inseri-o no visor e projetei a imagem na parede. Cabelo louro macio, seu rosto pálido, e palavras suaves:
— Detesto despedidas, Chris. Fui ao laboratório fazer um trabalho extra. Boa sorte. Todo o meu amor. Quando eu o encontrar de novo — será um homem.
E foi tudo.
Priory esperou lá fora, enquanto eu via o filme quatro vezes. — Detesto despedidas, Chris. Fui. . . trabalho. . . sorte. Todo. . . meu amor...
Eu tinha também feito um rolo de filme na noite anterior. Coloquei-o no visor e deixei-o lá. Dizia apenas adeus. .
Priory foi até a metade do caminho comigo. Eu não o deixaria ir até o monotrilho para o espaçoporto comigo. Apenas apertei-lhe a mão, forte, e disse: — Nos divertimos muito hoje, Ralph.
— É... bem, até o próximo sábado, hein, Chris?
— Gostaria de dizer que sim.
— Diga que sim, de qualquer maneira. No sábado que vem... o bosque, a turma, os foguetes, o Velho Wickard e seu fiel paralisador.
Rimos. — Claro, no sábado que vem, pela manhã. Tome... tome cuidado com a nossa mãe, sim, Priory?
— Que coisa mais boba de se dizer.
— É não é mesmo? Engoliu em seco. — Chris. —Sim?
— Ficarei esperando. Assim como você esperou e não precisa mais esperar. Eu esperarei.
— Talvez não por muito tempo, Priory; espero que não. Golpeei-o no braço, uma vez, ao que ele respondeu.
A porta do monotrilho fechou-se. O carro acelerou, e Priory foi deixado para trás.
Desço no espaçoporto. Era uma caminhada de quinhentos metros até o prédio da administração. Levou-me dez anos para fazer o percurso.
— Quando eu o encontrar de novo — será um homem...
— Não conte a ninguém...
— Esperarei, Chris...
Estava tudo acumulado em meu coração e não ia embora, e subia até meus olhos.
Pensei em meus sonhos. O Foguete Lunar. Não seria mais parte de mim, parte de meu sonho. Eu seria parte dele.
Eu sentia-me pequeno ali, andando, andando, andando.
O foguete da tarde para Londres estava decolando, enquanto eu descia a rampa para o escritório. Estremeceu o chão, assim como estremeceu e comoveu meu coração.
Eu estava começando a ficar adulto terrivelmente depressa.
Fiquei olhando o foguete até que alguém bateu os calcanhares, fazendo-me uma continência rápida.
Eu estava meio tonto.
— C. M. Christopher?
— Sim, senhor. Apresentando-se, senhor.
— Por aqui, Christopher. Por aquele portão. Por aquele portão e além da cerca...
Esta cerca contra a qual apertamos o rosto e sentíamos o vento aquecer-se e nos agarrávamos a ela, e esquecíamo-nos de quem éramos, ou de onde viéramos, mas sonhávamos com quem poderíamos ser e aonde poderíamos ir...
Esta cerca onde estiveram os meninos que gostavam de ser meninos que viviam numa cidade e até que gostavam da escola e gostavam de futebol e gostavam de seus pais e suas mães...
Os meninos que a alguma hora, de cada dia de cada semana pensavam em fogo e estrelas e a cerca além da qual eles esperavam... Os meninos que gostavam mais de foguetes.
Mamãe; Ralph, até à vista. Eu voltarei.
Mamãe!
Ralph!
E, caminhando, passei além da cerca.
Ele largou o cortador de grama no meio do gramado, porque percebeu que o sol naquele momento se punha e as estrelas apareciam. A grama recém-cortada que havia se esparramado sobre sua face e corpo, tombava lentamente. Sim, as estrelas estavam ali, fracas, de início, mas brilhando cada vez mais forte no céu claro do deserto. Ouviu a porta da frente fechar-se e sentiu sua mulher olhando para ele, enquanto ele olhava para a noite.
— É quase hora — disse ela.
Ele assentiu; não precisava consultar o relógio. Nos momentos que iam passando, ele sentia-se muito velho, e então muito jovem; muito frio, e então muito quente, ora isto, ora aquilo. Súbito, estava a milhas de distância. Ele era seu próprio filho falando firme, andando energicamente para abafar as batidas do coração, e o pânico ressurgente enquanto se sentia entrar no uniforme novo, verificar os suprimentos de comida, garrafas de oxigênio, capacete pressurizado, traje espacial, e voltar-se, como todo homem da Terra nesta noite, para olhar para o céu que rapidamente se enchia de estrelas.
Então, rapidamente, estava de volta, uma vez mais o pai daquele filho, mãos no cabo do cortador de grama. Sua mulher chamou-o. — Venha sentar-se na varanda.
— Preciso me manter ocupado!
Ela desceu os degraus e atravessou o jardim. — Não se preocupe com Robert; ele estará bem.
— Mas é tudo tão novo — ouviu a si mesmo falar. — Nunca foi feito antes. Pense só; um foguete tripulado subindo hoje à noite para construir a primeira estação espacial. Meu bom Senhor, não pode ser feito, não há nenhum foguete, nenhum campo de provas, nem hora da partida, nem técnicos. Nem mesmo tenho um filho chamado Bob. Tudo isso é demais para mim!
— Então o que está fazendo aqui, olhando?
Abanou a cabeça. — Bem, lá pelo fim da manhã de hoje, indo para o escritório, ouvi alguém rindo alto. Fiquei chocado, e gelei no meio da rua. Era eu, rindo! Por quê? Porque finalmente eu realmente sabia o que Bob ia fazer hoje à noite; finalmente eu acreditava naquilo. Santo é uma palavra que eu nunca uso, mas é como eu me sentia estatelado, ali no meio do trânsito. Então, no meio da tarde, eu me surpreendi cantarolando. Você conhece a música. "Uma roda dentro de outra; lá no meio do céu." Ri-me de novo. A estação espacial, claro, pensei. A grande roda com raios ocos onde Bob vai viver seis ou sete meses, e então voltará. Caminhando para casa, lembrei-me de outro pedaço da música. "Rodinha movida pela fé, roda grande pela graça de Deus." Eu quis pular, gritar e disparar para o céu eu mesmo!
Sua mulher tocou seu braço. — Se vamos ficar aqui fora, vamos ao menos ficar confortáveis.
Colocaram duas cadeiras de balanço no centro do jardim, e sentaram-se quietamente, enquanto as estrelas dissolviam-se, da escuridão em pedras de sal esmagadas, espalhadas de um horizonte a outro.
— Bem — disse sua esposa — é como esperar pelos fogos de artifício no Campo Sisley, todo ano.
— A multidão hoje à noite é maior...
— Fico pensando... um bilhão de pessoas olhando para o céu agora, boca aberta ao mesmo tempo.
Esperaram sentindo a Terra se mover sob suas cadeiras.
— Que horas são?
— Onze para as oito.
— Você sempre acerta; deve haver um relógio dentro da sua cabeça.
— Não posso errar esta noite. Poderei dizer-lhe até quando faltar um segundo para a ignição. Olhe! O aviso dos dez minutos!
No céu ocidental viram quatro clarões carmesim se abrirem, flutuando trêmulos descendo pelo vento, sobre o deserto, e então mergulhando silenciosamente para a terra, que os extinguiria.
Na renovada escuridão, marido e mulher não se balançavam em suas cadeiras.
Depois de um pouco, ele disse — Oito minutos. — Uma pausa — Sete minutos. — E, após o que pareceu uma interrupção muito mais longa — Seis...
Sua esposa, a cabeça inclinada para trás, estudava as estrelas imediatamente acima de sua cabeça e murmurou — Por quê? — Fechou os olhos. — Por que os foguetes, por que esta noite? Por que tudo isto? Gostaria de saber.
Ele examinou o rosto dela, pálido sob a vasta iluminação pulverulenta da Via-láctea. Sentiu o começo de uma resposta, mas deixou que sua esposa continuasse.
— Quero dizer, não é aquela velha história de novo, não? Quando as pessoas perguntavam por que os homens escalavam o Monte Everest, e respondiam "Porque está lá". Nunca entendi. Isso não era resposta para mim.
Cinco minutos, ele pensou. O tempo passando... seu relógio de pulso... uma roda dentro de outra... rodinha acionada por... grande roda impelida por... lá no meio do... quatro minutos!... Os homens se encarapitavam no foguete, agora, o habitáculo, o painel de controle com suas luzes piscando...
Seus lábios moveram-se.
Tudo o que. sei é que é realmente o fim do começo. A Idade da Pedra, Idade do Bronze, Idade do Ferro; doravante vamos amontoá-las todas sob um grande nome, para quando caminhávamos sobre a Terra e ouvíamos os pássaros pela manhã e chorávamos de inveja. Talvez a chamaremos de Idade da Terra, ou talvez a Idade da Gravitação. Por milhões de anos, combatemos a gravitação. Quando éramos amebas e peixes, nos esforçamos para sair do mar, sem a gravidade nos esmagando. Uma vez a salvo na praia, lutamos para ficar de pé sem a gravidade quebrar nossa nova invenção, a espinha, tentamos andar sem tropeçar, correr sem cair. Por um bilhão de anos, a Gravidade nos manteve em casa, mofou de nós com ventos e nuvens, moscas do lixo e gafanhotos. O que há de tão grande sobre esta noite, é isto... o fim da velha Gravitação e a era por cujo nome vamos lembrá-la, de uma vez por todas. Não sei onde vão dividir as eras, nos persas, que sonharam com tapetes voadores, ou com os chineses, que inconscientemente celebravam aniversários e Anos Novos com papagaios e rojões, ou algum minuto, algum incrível segundo da hora seguinte. Mas estamos tentando há um bilhão de anos, o fim de algo longo e para nós humanos, de qualquer modo, honroso.
— Três minutos... dois minutos, cinqüenta e nove segundos... dois minutos, cinqüenta e oito segundos...
— Mas — interpelou sua esposa — ainda não sei por que.
Dois minutos, pensou ele. Pronto? Pronto? Pronto? A voz remota chamando pelo rádio. Pronto! Pronto! Pronto! — As rápidas e fracas respostas do foguete, vibrando. Check! Check! Check!
Esta noite, pensou, mesmo se falharmos com este primeiro, mandaremos um segundo e um terceiro, e iremos até todos os planetas e depois, para todas as estrelas. Simplesmente continuaremos indo até que as grandes palavras, assim como imortal, e eternamente, assumam significado. Grandes palavras, sim, é o que queremos. Continuidade. Desde a primeira vez que nossas línguas se moveram em nossas bocas, perguntamos; O que tudo isso significa? Nenhuma outra pergunta fazia sentido, com o hálito da morte pelos nossos pescoços. Mas alojemo-nos em dez mil mundos girando à volta de dez mil sóis estranhos, e a questão se desvanece. O homem será sem termo e infinito, tal como o espaço é sem termo e infinito. O homem continuará, como o espaço continua, para sempre. Os indivíduos morrerão, como sempre, mas nossa história alcançará tão longe quanto precisarmos ver no futuro adentro, e com a certeza de nossa sobrevivência por todo o devir, conheceremos a segurança e assim sendo, a resposta que sempre procuramos. Presenteados com a vida, o mínimo que podemos fazer é preservar e passar este dom ao infinito. É um objetivo que vale a pena tentar acertar.
As cadeiras murmuravam levemente sobre a grama.
Um minuto.
— Um minuto — falou em voz alta.
— Oh! — Sua mulher de repente moveu-se para agarrar suas mãos — Espero que Bob...
— Ele estará bem!
— Ó Deus, cuide... Trinta segundos.
— Olhe agora. Quinze, dez, cinco...
— Olhe!
Quatro, três, dois, um.
— Ali! Ali! Olhe ali, ali!
Ambos gritaram. Ambos ficaram de pé. As cadeiras jogadas para trás, caíram ao chão. O homem e sua mulher inclinaram-se, suas mãos procurando encontrar-se, segurar-se, agarrar-se. Viram a cor luminosa intensificar-se no céu, e dez segundos depois, o grande cometa ascendente queimando o ar, apagando as estrelas, e disparar para longe num vôo chamejante, para se tornar outra estrela na reciprocante profusão da Via-láctea. O homem e sua mulher seguravam-se como se tivessem escorregando nas margens de uma falésia incrível que se defrontava com um abismo tão profundo e obscuro que parecia sem fim. Olhando para cima, ouviram a si mesmos soluçando e chorando. Apenas depois de um longo tempo conseguiram falar.
— Foi-se, não é? — Sim...
— Está tudo bem, não?
— Sim... sim...
— Não caiu de volta?
— Não; não; está tudo bem. Bob está bem, está tudo em ordem. Separaram-se, por fim.
Ele tocou o próprio rosto com a mão e olhou para seus dedos molhados. — Eu... — falou — eu...
Esperaram mais cinco, e dez minutos até que a escuridão em suas cabeças doía com um milhão de partículas de um sal ígneo. Então tiveram de fechar os olhos.
— Bem — disse ela — agora, vamos para dentro.
Ele não podia se mover. Apenas sua mão esticou-se por um longo trajeto, sozinha, para achar o cabo do cortador de grama. Viu o que sua mão havia feito, e disse — Só falta um pouquinho...
— Mas você não poderá enxergar.
— Enxergarei o suficiente — respondeu — Preciso acabar isto. Então nos sentaremos na varanda, um pouco, antes de entrar.
Ajudou-a a recolocar as cadeiras na varanda, e acomodou-a e voltou para pousar suas mãos na empunhadura do cortador. O cortador de grama. Uma roda dentro de outra. Uma máquina simples que você podia segurar nas mãos, que empurra para frente com um impulso e um matraquear, enquanto anda atrás dela, com sua filosofia silenciosa. Tumulto seguido por um cálido silêncio. Roda girando, então o suave caminhar pensativo.
Tenho um bilhão de anos, pensou ele; tenho um minuto de idade. Tenho uma polegada, não; dez mil milhas de altura. Olho para baixo e não posso ver meus pés, de tão longe que estão, lá embaixo.
Empurrou o cortador de grama. A grama lançada para cima caía docemente à sua volta; o que o agradava e que saboreava e sentia ser toda a humanidade finalmente banhando-se em água fresca da fonte da juventude.
Assim banhado, lembrou-se de novo da canção sobre as rodas e a fé e a graça de Deus estando lá em cima, no meio do céu, aonde aquela estrela única, entre um milhão de estrelas sem movimento, ousava mover-se, e continuar movendo-se.
E então, acabou de cortar a grama.
Lá, na água fria, longe da terra, esperamos toda noite pela neblina, e ela vinha, e lubrificávamos as máquinas de latão, e acendíamos o farol, na torre de pedra. Sentindo-nos como dois pássaros no céu cinzento, McDunn e eu mandávamos a luz, a tatear em vermelho, então branco, então vermelho de novo, para ver os navios solitários. E se não viam a nossa luz, então havia sempre a nossa Voz, o grande grito profundo de nossa Buzina de Neblina vibrando pelos farrapos do nevoeiro para assustar as gaivotas, como baralhos esparramados ao longe, e fazendo as ondas se elevarem e espumarem.
— É uma vida solitária, mas você está acostumado com ela, não? — perguntou McDunn.
— Sim. Você é um bom conversador, graças a Deus.
— Bem, é a sua vez de ir para terra amanhã — disse ele, sorrindo, — para dançar com as damas e beber gin.
— Em que você pensa, McDunn, quando eu o deixo aqui sozinho?
— Nos mistérios do mar — McDunn acendeu seu cachimbo. Eram sete e quinze, numa fria noite de novembro, o aquecimento ligado, a luz piscando sua trajetória em duzentas direções, a Buzina berrando na garganta alta da torre. Não havia uma só cidade em duzentas milhas da costa, apenas uma estrada que passava isolada por ermos, até o mar, com poucos carros, uma distância de duas milhas de água gélida até nosso rochedo, e uns poucos raros navios.
— Os mistérios do mar — falou McDunn, pensativamente. — Sabe que o oceano é o maior e mais confuso floco de neve jamais visto? Rola e ondula em mil formas e cores, sem repetir-se. Estranho. Uma noite, anos atrás, eu estava aqui, só, quando todos os peixes do mar emergiram acolá. Algo os fez nadar para a costa e ficar na baía, como que tremendo e olhando para o farol vermelho, branco, vermelho, branco, piscando para eles, de modo que pude ver seus olhos esquisitos. Esfriei. Eram como uma grande cauda de pavão, movendo-se ali, até meia-noite. Então, sem o menor ruído afastaram-se, deslizando, um milhão deles tinha ido embora. Eu acho, que de algum jeito, nadaram todas essas milhas para um culto. Estranho. Mas pense como a torre deve lhes parecer, setenta pés acima do mar, a luz-deus lampejando dela, e a torre declarando-se com uma voz monstruosa. Nunca voltaram, aqueles peixes, mas não acha que por um instante eles pensaram estar na Presença?
Estremeci. Olhei para o longo prado cinzento do oceano estendendo-se para o nada, e lugar nenhum.
— Ora, o mar está cheio — McDunn fumava seu cachimbo nervosamente, piscando. Estivera nervoso todo o dia, e não tinha dito por que. — Com todas as nossas máquinas e submarinos, ainda vão se passar dez mil séculos antes que ponhamos o pé no fundo mesmo das terras submersas, nos reinos encantados de lá, e conheceremos o verdadeiro terror. Pense só, ainda é o ano 300.000 a. C. lá embaixo. Enquanto andamos por aí arrancando os países e cabeças dos outros, eles têm vivido embaixo do mar a doze frias milhas de profundidade, num tempo tão antigo como a barba de um cometa.
— Sim, é um mundo velho.
— Vamos. Tenho algo especial que tenho guardado para lhe mostrar.
Subimos os oitenta degraus, conversando, indo devagar. No topo, McDunn desligou as luzes do quarto, de maneira que não houvessem reflexos no espelho refletor. O grande olho do farol estava zumbindo, girando macio em seu soquete lubrificado. A Buzina estava apitando constantemente, a cada quinze segundos.
— Soa como um animal, não é? — McDunn fez que sim, calado. — Um grande animal só, gritando na noite. Sentado aqui nas bordas de dez bilhões de anos gritando para as Profundezas, estou aqui; estou aqui; estou aqui. E as Profundezas respondem, sim, como não? Você está aqui há três meses, Johnny, assim, é melhor que eu o deixe preparado. Por esta época do ano — disse, estudando o escuro e a névoa — algo vem visitar o farol.
— Os cardumes de peixes, como disse?
— Não, isto é diferente. Não lhe contei antes porque você poderia pensar que estou caducando. Mas esta é a última noite até onde poderia adiar, pois se meu calendário foi marcado certo no ano passado, esta é a noite. Não entrarei em minúcias; você vai ter de ver por si mesmo. Apenas fique aqui sentado. Se quiser amanhã pegar suas coisas e pegar a lancha, ir para terra, pegar seu carro estacionado no atracadouro, no cabo, e ir para alguma cidadezinha do interior, e manter as luzes da casa acesas à noite. Eu não vou lhe fazer perguntas, nem importuná-lo. Acontece já há anos, e esta é a única ocasião em que alguém estará aqui para constatar comigo. Espere, e olhe.
Passou-se meia hora com apenas alguns sussurros entre nós. Quando nos cansamos de esperar, McDunn começou a descrever algumas de suas idéias para mim. Tinha algumas teorias sobre a Buzina propriamente dita.
— Um dia, há muitos anos, um homem estava caminhando e ouvindo o som do oceano numa praia fria e sem sol, e disse: — Precisamos de uma voz para chamar através das águas, para avisar os navios; vou fazer uma. Farei uma voz como todo o tempo e a neblina que já existiram; farei uma voz que seja como uma cama vazia a seu lado por toda a noite, e como uma casa vazia quando se abre a porta, e como árvores no outono, sem folhas. Um som como dos pássaros voando para o sul, gritando, e um som como o vento de novembro e o mar numa costa fria e resistente. Farei um som tão solitário que ninguém poderá deixar da notá-lo, que quem quer que o ouça, chorará em sua alma, e seus corações parecerão mais quentes, e por dentro parecerá melhor para todos os que o ouvirem em cidades distantes. Farei um som para mim e um aparato, que chamarão uma.Buzina de Neblina, e quem quer que o ouça conhecerá a tristeza da eternidade e a brevidade da vida.
A Buzina tocou.
— Inventei essa história — falava mansamente McDunn — para tentar explicar porque essa coisa continua voltando ao farol, todo ano. A Buzina o chama, eu creio, e ele vem...
— Mas... — eu ia falando.
— Pssst! — fez McDunn — Ali! — Apontou com a cabeça para as Profundezas.
Algo estava nadando rumo à torre do farol. Era uma noite fria, como tinha dito; a torre, alta, estava fria, a luz acendendo e apagando, e a Buzina chamando e chamando através da névoa confusa. Não se podia ver nem longe, nem claro, mas ali estava o mar profundo movendo-se em seu caminho para a terra, na noite, plano e quieto, da cor de lama acinzentada, e aqui estávamos nós dois, sós, na torre alta, e ali, distanciado, de início, uma agitação, seguida por uma onda, uma elevação, uma bolha, um pouco de espuma. E então da superfície do frio mar veio uma cabeça, uma grande cabeça, de cor escura, com imensos olhos, e então um pescoço. E então... não um corpo, mas mais pescoço, e mais! A cabeça elevou-se bem uns quarenta pés acima da água, num esguio e lindamente escuro pescoço. Só aí o corpo, como uma ilhota de coral negro, e conchas e lagostas, saiu do subterrâneo. Havia uma sugestão de cauda. Ao todo, da cabeça à ponta da cauda, avaliei que o monstro tinha de noventa a cem pés.
Não sei o que disse. Disse alguma coisa.
— Calma, rapaz; calma — murmurou McDunn.
— É impossível! — exclamei.
— Não, Johnny, nós somos impossíveis. É como era há dez milhões de anos. Não mudou. Nós e a terra mudamos, e nos tornamos impossíveis. Nós!
Nadava devagar e com uma grande majestade negra nas águas geladas, bem longe. A neblina aproximava-se dele e passava, momentaneamente apagando seu formato. Um dos olhos do monstro interceptou, apanhou e refletiu nossa imensa lâmpada, vermelho, branco, vermelho, branco, como um disco erguido e mandando uma mensagem, num código primitivo. Estava tão silencioso como a névoa pela qual nadava.
— É um dinossauro de alguma espécie! — Agachei-me, segurando o corrimão.
— Sim, um da tribo.
— Mas eles morreram!
— Não; apenas esconderam-se nas Profundezas. Lá embaixo, no mais fundo das Profundezas. Não é uma palavra e tanto, Johnny, uma bela palavra; tão expressiva: as Profundezas. Numa palavra destas, encontram-se toda a frieza e escuridão e abismo do mundo.
— Que faremos?
— Fazer? Temos nosso trabalho; não podemos deixá-lo. Além do mais, estamos mais seguros aqui do que em qualquer barco, tentando alcançar a terra. Aquela coisa é tão grande quanto um destróier, e quase tão veloz quanto um.
— Mas aqui, por que vem aqui?
No momento seguinte, tive minha resposta.
A Buzina tocou.
E o monstro respondeu.
Um grito veio atrás de um milhão de anos de água e neblina. Um grito tão angustiado-e solitário que estremeceu minha cabeça e corpo. O monstro gritava para a torre. A Buzina tocou. 0 monstro rugiu de novo. A Buzina tocou. Então o monstro abriu sua grande boca cheia de dentes, e o som que saiu dela era o mesmo da Buzina. Solitário, e vasto, e distante. O som do isolamento, um mar sem visibilidade, uma noite fria, separação. Assim era o som.
— Agora — sussurrou McDunn — percebeu por que isso vem até aqui?
Assenti.
— O ano inteiro, Johnny, aquele pobre monstro ficando ali, mil milhas mar adentro, e vinte milhas de profundidade, quem sabe, esperando sempre, talvez tenha um milhão de anos de idade, esta criatura. Pense só, esperar um milhão de anos; você esperaria tanto? Talvez seja o último de sua espécie. Penso que talvez seja. Enfim, os homens vêm aqui e constroem este farol, há cinco anos atrás. E instalam sua Buzina de Neblina, tocando-a; tocando-a, na direção do lugar onde estava enterrado em sono e memórias marinhas de um mundo onde havia milhares como ele, mas agora, está só, sozinho num mundo que não foi feito para ele, um mundo em que precisa se esconder.
Mas o som da Buzina vai e vem; vai e vem; vai e vem, e ele se move no fundo enlameado das Profundezas, e os olhos dele abrem-se como as lentes de câmeras de dois pés, e move-se, devagar, devagar, pois tem o mar sobre os ombros, muito pesado. Mas aquela Buzina vem, atravessando milhas de água, fraco e familiar, e a fornalha em sua pança é atiçada, e começa a erguer-se; devagar; devagar. Alimenta-se de grandes bocadas de peixes grandes e pequenos, rios de medusas, e ergue-se, nos meses de outono, em setembro, quando o nevoeiro começa, passando por outubro com mais nevoeiro, e a Buzina ainda chamando, e então, no fim de novembro, depois de uma pressurização a cada dia, poucos pés mais alto a cada hora, chega perto da superfície, ainda vivo. É preciso ir lentamente; se emergisse depressa, explodiria. De modo que leva três meses até a superfície, e então alguns dias para nadar pelas frias águas até o farol. E lá está, ali, na noite, Johnny, o maior monstro que já se viu em toda a Criação. E ali está o farol, chamando-o, com um longo pescoço, como o dele mesmo, esticado acima da água, e um corpo tal como o seu e, mais importante, uma voz como a sua. Percebe agora, Johnny, percebe?
A Buzina tocou.
O monstro respondeu.
Eu via tudo, e sabia — todos os milhões de anos esperando só, por alguém que voltasse, mas qual. Os milhões de anos de isolamento no fundo do mar, a insânia do tempo ali, enquanto os céus ficavam limpos de pássaros-répteis, os pântanos secando nos continentes, as preguiças e tigres de dentes de sabre tinham vivido seus dias e afundado em tanques de piche, e os homens corriam como formigas sobre as colinas.
A Buzina tocou.
— No ano passado — retomou McDunn — aquela criatura nadou à volta, a noite toda. Sem chegar muito perto, surpreso, eu diria. Amedrontado, quem sabe. E um pouco agastado depois de toda a viagem. Mas no dia seguinte, inesperadamente, a neblina ergueu-se, o sol apareceu, e o céu estava azul como numa pintura. E o monstro afastou-se, do calor e do silêncio, e não voltou. Suponho que tenha estado se recordando daquilo já há um ano, rememorando o fato de todos os modos.
O monstro estava apenas a cem jardas agora, ele e a Buzina gritando um para o outro. Quando a luz os atingia, os olhos do monstro eram como fogo e gelo; fogo e gelo.
— É a vida — explicava McDunn. — alguém sempre esperando por alguém que nunca volta. Sempre alguém amando algo mais do que esse algo o ama. E em pouco tempo, deseja-se destruir isso, de modo que não possa mais ferir.
O monstro corria para o farol. A Buzina tocou.
— Vejamos o que acontece — falou McDunn. Desligou a Buzina.
O minuto de silêncio que se seguiu foi tão intenso que podíamos ouvir nossos corações batendo na área de vidro da torre, podíamos ouvir o lento girar lubrificado do farol.
O monstro parou, e gelou. Seus grandes olhos de lanterna piscaram. Sua boca abriu-se. Soltou um rumor, como um vulcão. Virou a cabeça para cá e para lá, como que para procurar os sons agora esvaídos na neblina. Olhou para o farol. Rumorejou de novo. Então seus olhos se incendiaram. Tomou impulso, cortou a água, velozmente, rumo à torre, olhos cheios de um tormento furioso.
— McDunn! — gritei — ligue a buzina!
McDunn estava às voltas com a chave. Mas mesmo ligando-a, o monstro já estava se erguendo. Vi num relance suas patas gigantescas, uma pele de peixe brilhando, fina, entre as projeções semelhantes a dedos, estendendo-se para a torre. Os grandes olhos do lado direito de sua cabeça angustiada brilharam à minha frente, como um caldeirão no qual eu podia cair, gritando. A torre estremeceu. A Buzina gritou; o monstro gritou. Agarrou a torre e abocanhou o vidro que se esmigalhou sobre nós.
McDunn agarrou meu braço. — Para baixo!
A torre oscilou, tremeu, e começou a ceder. A Buzina e o monstro rugiram. Tropeçamos e quase caímos pela escada — Rápido!
Chegamos ao térreo, e a torre já se inclinava para nós. Alojamo-nos sob a escada, num pequeno porão de pedra. Mil concussões, com as pedras chovendo; a Buzina parou abruptamente. O monstro caiu sobre a torre, que desabou. Ajoelhamo-nos, McDunn e eu, segurando-nos, enquanto nosso mundo explodia.
Então, passou, e não havia nada senão escuridão e o mar, lavando as pedras nuas.
Isso, e outro som.
— Escute — falou McDunn baixo. — Escute.
Esperamos um instante. E então, comecei a ouvir. Primeiro uma grande aspiração de ar, e então o lamento, o aturdimento, a solidão do grande monstro, recaindo sobre nós, a exalação nauseante de seu corpo enchendo o ar à espessura de uma pedra de nosso porão. O monstro engasgou e gritou. A torre tinha desaparecido. A luz tinha-se ido. A coisa que o chamara através de um milhão de anos tinha-se ido. E o monstro estava abrindo sua boca e soltando grandes sons. Os sons de uma Buzina de Neblina, de novo e de novo. E os navios, ao largo, no mar, não encontrando a luz, não vendo nada, mas passando e ouvindo no meio da noite, devem ter pensado. Aí está, o som solitário, a buzina da Baía Solitária. Tudo está bem. Contornamos o cabo.
E assim continuou pelo resto da noite.
O sol estava quente e amarelo na tarde seguinte, quando vieram nos tirar de nosso porão soterrado.
— Desabou, foi tudo — dizia McDunn, grave. — Tivemos algumas ondas mais fortes, e simplesmente desabou. — Beliscou meu braço.
Não havia nada para ver. O oceano estava calmo, o céu azul. A única coisa era um forte odor de algas da substância esverdeada que cobria as pedras da torre abatida, e as pedras da praia. Havia moscas por ali. O oceano varria uma costa desimpedida.
No ano seguinte, construíram um novo farol, mas daquela vez eu tinha um empreguinho no vilarejo, e uma esposa, e uma boa e quente casinha que passava as noites de outono acesa, as portas trancadas, a chaminé soltando fumaça. Quanto a McDunn, era o chefe do novo farol, construído segundo suas especificações, de concreto reforçado. — Nunca se sabe — dissera ele.
O novo farol ficou pronto em novembro. Fui lá uma noite, estacionei o carro e olhei para as águas cinzentas e escutei a nova Buzina tocando, uma, duas, três vezes, quatro vezes por minuto, lá longe, sozinha.
O monstro?
Nunca voltou.
— Foi-se — disse McDunn. — Voltou para as Profundezas. Aprendeu que não se pode gostar demais de uma coisa neste mundo. Foi para o mais fundo das Profundezas, para esperar outro milhão de anos. O pobre coitado! Esperando, lá, e esperando, enquanto o homem vai e vem, neste planeta lamentável. Esperando e esperando.
Sentei-me em meu carro, ouvindo. Não podia ver o farol ou a luz na Baía Solitária. Podia apenas escutar a Buzina, a Buzina, a Buzina. Soava como o monstro, chamando.
Sentei-me ali, desejando que houvesse algo que eu pudesse dizer.
Muitas noites, Fiorello Bodoni acordava para ouvir os foguetes suspirando, pelo céu escuro. Saía da cama na ponta dos pés, certo de que sua mulher estava sonhando, para sair ao ar noturno. Por alguns momentos, estaria livre dos cheiros de comida velha, na casinha ao lado do rio. Por um momento silencioso, deixaria seu coração voar, só, pelo espaço, seguindo os foguetes.
Agora, nesta noite, ele estava seminu, na escuridão, esperando as fontes de fogo murmurar pelo céu. Os foguetes em seu longo trajeto furioso para Marte e Saturno e Vênus!
— Ora vejam, Bodoni! Bodoni sobressaltou-se.
Sobre uma caixa de leite, ao lado do rio silencioso, estava sentado um velho que também olhava os foguetes, em meio à calma da noite.
— Ah, é você, Bramante!
— Você sai todas as noites, Bodoni?
— Só para tomar ar.
— Só? Eu, prefiro os foguetes — falou o velho Bramante. — Eu era menino, quando começaram. Há oitenta anos, e nunca estive dentro de um, ainda.
— Vou viajar num, algum dia — falou Bodoni.
— Louco! — exclamou Bramante. — Nunca irá. Este é um mundo para os ricos. — Abanou a cabeça grisalha, lembrando-se: — Quando eu era jovem, escreveram em letras rubras: O MUNDO DO FUTURO! Ciência; conforto; e Coisas Novas para Todos! Bá! Oitenta anos. O Futuro tornou-se Agora! Nós voamos em foguetes? Não! Vivemos em choupanas, como nossos antepassados, antes de nós.
— Talvez meus filhos... — falou Bodoni.
— Não! Nem os filhos deles! — o velho gritou — São os ricos que têm sonhos e foguetes!
Bodoni hesitou — Velho, economizei três mil dólares. Levou seis anos para economizar. Para meu negócio, para investir em máquinas. Mas toda noite, já há um mês, tenho acordado. Ouço os foguetes. Penso. E esta noite me decidi. Um de nós irá até Marte! — Seus olhos estavam brilhando, escuros.
— Idiota — retrucou Bramante — Como vai escolher? Quem irá? Se você for, sua mulher o detestará, pois terá estado um pouquinho mais perto de Deus, no espaço. Quando contar sua viagem maravilhosa para ela, através dos anos, a amargura não vai roê-la por dentro?
— Não! Não!
— Sim! E seus filhos? Suas vidas ficarão cheias da memória do Papá, que voou até Marte, enquanto eles ficavam aqui? Que coisa mais insensata vai jogar sobre seus meninos. Vão pensar no foguete por toda a vida. Vão ficar sem sono. Vão ficar doentes de desejos. Assim como você, agora. Quererão morrer, se não puderem ir. Não tente isso, estou avisando. Deixe-os contentarem-se com a pobreza. Volte os olhos deles para suas mãos e para o seu ferro velho, não para as estrelas.
— Mas...
— Suponha que vá sua mulher. Como você se sentiria, sabendo que ela teria visto, e você não? Ela se tornaria sagrada. Você pensaria em jogá-la no rio. Não, Bodoni, compre uma nova máquina, que você precisa, e despedace seus sonhos com ela, e reduza-os a pedacinhos.
O velho calou-se, olhando para o rio onde imagens afogadas de foguetes queimavam pelo céu adentro.
— Boa noite — disse Bodoni.
— Durma bem — falou o outro.
Quando a torrada saltou de sua caixa prateada, Bodoni quase gritou. A noite tinha sido insone. Em meio a suas crianças, nervosas, ao lado de sua montanhosa esposa, Bodoni virara-se e olhava para o nada. Bramante estava certo. Melhor investir o dinheiro. Para que economizá-lo quando apenas um da família poderia viajar de foguete, enquanto os outros ficariam, para se derreterem em frustrações?
— Fiorello, coma sua torrada — falou sua mulher, Maria.
— Minha garganta está seca — respondeu Bodoni.
As crianças correram para dentro, os três meninos brigando por um foguete de brinquedo, as duas meninas levando bonecas que imitavam os habitantes de Marte, Vênus e Netuno, manequins verdes com três olhos amarelos e doze dedos.
— Eu vi o foguete para Vênus! — gritou Paolo.
— Decolou e vuuush! — chiou Antonello.
— Crianças! — gritou Bodoni, com as mãos nos ouvidos. Ficaram olhando para ele. Ele raramente gritava.
Bodoni levantou-se. — Escutem, todos, tenho dinheiro suficiente para levar um de nós no foguete para Marte. Todos gritaram.
— Entenderam?! Apenas um de nós. Quem? — interrogou.
— Eu; eu; eu! — gritaram as crianças.
— Você — disse Maria.
— Você — Bodoni disse para ela. Todos calaram.
As crianças reconsideraram. — Deixe Lorenzo ir — ele é o mais velho.
— Deixe Miriamne ir; é tão criança!
— Penso no que veria — falou a mulher de Bodoni para ele. Mas seus olhos estavam estranhos. Sua voz tremia. — Os meteoros, como peixes. O universo. A lua. Deveria ir alguém que pudesse contar, quando voltasse. Você tem jeito com as palavras.
— Bobagem; tanto quanto você — ele objetou. Todos estremeceram.
— Vejamos — falou Bodoni, contrafeito. De uma vassoura, partiu fios de vários comprimentos. — O mais curto ganha. — Estendeu o punho fechado. — Escolham.
Solenemente, cada um tirou o seu.
— Comprido.
— Comprido. Outro.
— Comprido.
As crianças acabaram. Estavam em silêncio. Dois fios restavam. Bodoni sentiu o coração doendo. — Agora — sussurrou — Maria. Ela tirou. O fio curto — ela falou.
Lorenzo suspirou — meio contente, meio triste. — A Mama vai para Marte.
Bodoni tentou sorrir — Parabéns; vou comprar a passagem hoje.
— Espere, Fiorello...
— Pode partir na semana que vem — murmurou.
Ela viu os olhos tristes de seus filhos fixos nela, com os sorrisos sob seus narizes retos e grandes. Devolveu lentamente o fio para seu marido: — Não posso ir a Marte.
— Mas porque não?
— Estou esperando outra criança. — O quê?!
Ela não olhava para ele. — Não seria bom que eu viajasse assim. Ele tomou-lhe o cotovelo. — É verdade?
— Tire de novo; recomece.
— Por que não me falou antes? — perguntou, incrédulo.
— Esqueci.
— Maria, Maria — murmurou, acariciando seu rosto. Virou-se para as crianças. — Tirem de novo.
Paolo tirou logo em primeiro lugar o fio curto.
— Vou a Marte! — Dançava como louco. — Obrigado, pai! As outras crianças afastaram-se. — Isso é ótimo, Paolo.
Paolo parou de sorrir para examinar seus pais e seus irmãos e irmãs. — Eu posso ir, não? — perguntou, incerto.
— E vocês vão gostar de mim, quando eu voltar?
— Claro.
Paolo estudou o precioso fio da vassoura em sua mão trêmula e abanou a cabeça. Jogou-o fora. — Esqueci. As aulas vão começar. Não posso ir. Tirem de novo.
Mas ninguém queria. A mais completa tristeza caiu sobre eles.
— Nenhum de nós irá — disse Lourenzo.
— É melhor assim — falou Maria.
— Bramante estava certo — finalizou Bodoni.
Com o desjejum empedrado dentro dele, Fiorello Bodoni trabalhava em seu ferro-velho, cortando o metal, derretendo, e vertendo lingotes reutilizáveis. Seu equipamento estava se desfazendo; a competição o mantinha no enlouquecedor limite da pobreza já por vinte anos.
Era uma péssima manhã.
À tarde, um homem entrou no ferro-velho e chamou Bodoni, às voltas com sua máquina de desmontar. — Ei, Bodoni! Tenho algum metal para você!
— O que é, sr. Mathews? — perguntou Bodoni, apático.
— Uma espaçonave. O que há? Você a quer?
— Sim! Sim! — Agarrou o braço do homem, e ficou parado, assombrado.
— Claro — explicou Mathews — é apenas um modelo. Sabe, quando projetam um foguete, eles constroem um modelo em tamanho natural, primeiro de alumínio. Você poderia ter um lucrinho derretendo-o. Deixo para você por dois mil...
Bodoni deixou cair seu braço. — Não tenho o dinheiro.
— Desculpe. Pensei que poderia ajudar. Da última vez que conversamos, você disse que qualquer um poderia pagar mais do que você. Pensei que poderia passar este para você, sem que ninguém soubesse. Bem...
— Preciso de equipamento novo. Economizei dinheiro para isso.
— Eu compreendo.
— Se eu comprasse o seu foguete, nem mesmo poderia derretê-lo. Meu forno para alumínio quebrou na semana passada...
— Percebo.
— Não poderia usar o foguete se o comprasse.
— Eu sei.
Bodoni piscou e fechou os olhos. Abriu-os e então olhou para o sr. Mathews. — Mas, que idiota que eu sou. Vou pegar o dinheiro no banco e dar para o senhor.
— Mas se não pode derreter o foguete...
— Entregue-o — falou Bodoni.
— Está bem, se é assim que quer. Esta noite?
— Esta noite — falou Bodoni. — Estaria bem. Sim, eu quero a espaçonave esta noite.
Havia lua. O foguete estava branco e grande, no ferro-velho. Tinha a brancura da lua e o azul das estrelas. Bodoni olhava para ele com todo o amor. Queria abraçá-lo e ficar a seu lado, apertando o rosto contra ele, contando-lhe todos os segredos de seu coração.
Olhou para o alto do foguete. — É todo meu — falou.— Mesmo que nunca se mova, ou cuspa fogo, e apenas fique aí e enferruje por cinqüenta anos, é todo meu.
O foguete cheirava a tempo, e distância. Era como entrar num relógio. Estava acabado com uma delicadeza suíça. Podia usá-lo numa pulseira de relógio. — Eu poderia até dormir aqui, esta noite — Bodoni cochichava, animadamente.
Sentou-se no banco do piloto.
Tocou uma alavanca.
Fez um barulho com a boca fechada, olhos fechados.
O barulho cresceu, cresceu, mais alto, mais alto, mais forte, esquisito, mais eufórico, trepidando dentro dele e empurrando-o para a frente, levando-o, e ao foguete, num rugido silencioso, numa espécie de grito de metal, enquanto seus pulsos voavam sobre os controles, e fechou seus olhos, abalado, e o som cresceu e cresceu e cresceu até que era um fogo, uma força, um poder que erguia e empurrava, ameaçando-o cortar ao meio. Engasgou. Zumbia mais e mais, e não parava, pois isso não podia parar, só podia continuar, seus olhos mais fechados, seu coração acelerado. — Decolando! — exclamou. O golpe para a frente! O trovão! — A Lua! — gritou, olhos fechados, apertados. — Os meteoros! — A passagem silenciosa a uma luz vulcânica. — Marte. Oh, sim, Marte! Marte!
Jogou-se para trás, exausto e ofegante. Suas mãos trêmulas soltaram-se dos controles e sua cabeça estava girando. Ficou sentado por um longo tempo, respirando pesadamente, e seu coração desacelerando.
Devagar, bem devagar, abriu os olhos.
O ferro-velho ainda estava lá.
Estava sentado, imóvel. Olhou para as pilhas de metal por um minuto, fixamente. Então, pulando da cadeira, socou as alavancas. — Decole, maldito!
A nave estava silente.
— Vou mostrar-lhe! — gritou.
Ao ar da noite, tropeçando, ligou o forte motor de sua terrível máquina de demolição, e avançou para o foguete. Manobrou os pesos maciços ao céu enluarado. Aprestou suas mãos ainda trêmulas para mergulhar os pesos, esmagar, cortar em pedaços este sonho insolentemente falso, esta coisa maluca com a qual tinha gasto seu dinheiro, e que não se moveria, que não faria sua parte. — Vou ensinar-lhe! — berrava.
Mas sua mão deteve-se.
O foguete prateado lá estava, ao luar. E além do foguete, as luzes amarelas de sua casa, a um quarteirão de distância, cálidas. Ouviu o rádio da família tocando alguma música distante. Sentou-se por meia hora, considerando o foguete e as luzes da casa, e seus olhos estreitaram-se, e arregalaram-se. Desceu da máquina de demolição e começou a andar, e enquanto andava, começou a rir-se, e quando chegou à porta dos fundos de sua casa, tomou fôlego e chamou — Maria, Maria! Comece a fazer as malas. Vamos para Marte!
—Oh! —Ah!
— Não posso acreditar!
— Você vai, vai sim.
As crianças hesitaram, no pátio, ao vento, sob o lustroso foguete, sem tocá-lo. Começaram a chorar.
Maria olhou para seu marido. — O que fez? Usou nosso dinheiro para isto? Nunca voará.
— Vai voar — respondeu, olhando para a nave.
— Espaçonaves custam milhões. Você tem milhões?
— Vai voar — ele repetia constantemente. — Agora, vão para casa, todos. Tenho telefonemas a fazer, trabalho. Amanhã partiremos! Não digam a ninguém, compreenderam? É um segredo.
As crianças contornaram o foguete, tropeçando. Ele viu seus rostos pequenos e febris nas janelas da casa, ao longe.
Maria não se movera. — Você nos arruinou — disse ela. — Nosso dinheiro usado para essa... essa coisa, quando deveria ter sido usado em equipamento.
— Você verá — ele respondeu. Sem dizer palavra, ela afastou-se.
— Que Deus me ajude — ele falou em voz baixa, e começou a trabalhar.
Em meio à noite, os caminhões chegaram, volumes foram entregues, e Bodoni, sorrindo, esvaziou sua conta bancária. Com o maçarico e cortando metal, assaltou o foguete, acrescentou, tirou, fez sua mágica de fogo, e lançou-lhe secretos insultos. Rebitou nove motores velhos de automóvel no compartimento vazio do motor do foguete. Então fechou o compartimento com solda, de modo que ninguém pudesse ver seu trabalho oculto.
Na madrugada, entrou na cozinha. — Maria — falou — estou pronto para tomar o desjejum.
Ela não falou com ele.
Ao pôr do sol, chamou as crianças. — Estamos prontos! Vamos! A casa estava em silêncio.
— Tranquei-os no cubículo — disse Maria.
— Que está dizendo? — perguntou ele.
— Você vai se matar naquele foguete — ela retrucou. — Que tipo de foguete você pode comprar por dois mil dólares? Uma droga!
— Escute-me, Maria...
— Vai explodir; além do mais, você não é piloto.
— Mesmo assim, eu posso voar nesse foguete. Consertei-o.
— Você enlouqueceu.
— Onde está a chave do armário? '
— Aqui.
Esticou a mão. — Dê cá. Ela deu. — Vai matá-los.
— Não; não.
— Vai, sim. Eu sinto isso.
Ele se pôs à frente dela. — Não vai conosco?
— Vou ficar aqui — ela disse.
— Você vai compreender; vai ver só — ela disse, sorrindo. Abriu o armário. — Venham, crianças. Sigam o papai.
— Até logo, até logo, Mama!
Ela ficou à janela da cozinha, olhando para eles, fixa e silenciosamente.
À porta do foguete, o pai disse. — Crianças, este é um foguete muito veloz. Estaremos fora por pouco tempo. Vocês precisam voltar à escola, e eu, ao meu trabalho. — Tomou as mãos de cada um deles. — Escutem; este foguete é muito velho e vai fazer só mais uma viagem. E não vai voar mais. Será a viagem de suas vidas. Fiquem de olhos bem abertos.
— Si, Papá.
A nave estava quieta como um relógio parado. A porta estanque chiou atrás deles. Amarrou-os todos, como pequenas múmias, em berços de borracha. — Prontos? — perguntou.
— Prontos! — responderam todos.
— Ignição! — Ligou dez interruptores. O foguete trovejou e pulou. As crianças dançaram em seus berços, gritando — Estamos nos movendo! Saímos! Vejam!
— Lá vem a Lua!
A lua deslizou por perto. Meteoros como fogos de artifício. O tempo fluía numa serpentina de gás. As crianças gritavam. Soltando-se de seus berços, horas depois, olharam pelas escotilhas. — Lá está a Terra! Lá está Marte!
O foguete deixou cair pétalas rosadas de fogo, enquanto o mostrador das horas girava; os olhos das crianças fecharam-se. Por fim, alojaram-se como borboletas bêbadas em seus berços-casulo.
— Ótimo — falou Bodoni consigo mesmo.
Saiu na ponta dos pés da sala de controle, para ficar olhando, por um momento, amedrontado, para a porta estanque.
Apertou um botão. A porta abriu-se. Saiu. Para o espaço? Nas marés negras de meteoros e gases? Em suaves distâncias e dimensões infinitas?
Não. Bodoni sorria.
Em torno do foguete vivo, estava o ferro-velho.
Enferrujando, imutável, ali estava o portão do pátio, com seu cadeado, a casinha silenciosa, ao lado do rio, a janela da cozinha acesa, e o rio, indo para aquele lado. E no centro do pátio, fabricando um sonho mágico, ò foguete, vibrando e ronronando. Agitando-se e rugindo, sacudindo as crianças encasuladas, como moscas numa teia.
Maria estava na janela da cozinha.
Ele acenou para ela e sorriu.
Ele não podia ver se ela estava acenando ou não. Um pequeno aceno, talvez. Um sorrisinho.
O sol estava nascendo.
Bodoni retirou-se depressa para dentro do foguete. Silêncio. Todos ainda dormiam. Respirou, calmo. Amarrando-se a um berço, fechou os olhos. Para si mesmo, rezou: — Que nada aconteça com esta ilusão, pelos próximos seis dias. Que o espaço venha e vá, e o vermelho Marte apareça sob nossa nave, e as luas de Marte, e que não haja defeitos no filme a cores. Que não falhe o tridimensional; que nada saia errado com os espelhos escondidos e telas que moldam a bela ilusão. Que o tempo passe sem crises.
Despertou.
O vermelho Marte flutuava perto do foguete.
— Papa! — As crianças se desvencilhavam depressa.
Bodoni olhou e viu o Marte rubro e era bom e não havia defeito nele e ele estava feliz.
Ao pôr-do-sol, no sétimo dia, o foguete parou de vibrar.
— Estamos em casa — disse Bodoni.
Caminharam através do pátio, da porta aberta do foguete, com seu sangue cantando, rostos acesos. Talvez soubessem o que ele tinha feito. Talvez tivessem adivinhado seu maravilhoso truque de mágica. Mas se sabiam, se adivinharam, nunca o disseram. Agora, apenas riam e davam risada.
— Tenho presunto e ovos para todos vocês — disse Maria, na porta da cozinha.
— Mama; mama, devia ter vindo, para ver, para ver Marte, mama, e os meteoros, e tudo!
— Sim — concordou ela.
Na hora de dormir, as crianças juntaram-se à frente de Bodoni. — Queremos agradecer-lhe, papa.
— Não foi nada.
— Lembraremos para sempre, papa. Nunca esqueceremos.
Muito tarde, na noite, Bodoni abriu os olhos. Sentiu que a mulher estava a seu lado, olhando-o. Ela não se moveu, por um longo tempo, e então, de repente, beijou seu rosto e sua testa. — O que é que há? — exclamou ele.
— Você é o melhor pai do mundo — ela falou, baixo.
— Por quê?
— Agora vejo — ela disse — e compreendo.
Ela recostou-se e fechou os olhos, segurando a mão dele. — A viagem é bonita? — ela perguntou. —Sim.
— Talvez — ela disse. — Talvez, uma noite dessas, você poderia me levar num passeio curto, não acha?
— Um passeio curto, talvez.
— Obrigada. Boa-noite.
— Boa-noite — respondeu Fiorello Bodoni.
Os vaga-lumes elétricos flutuavam acima do cabelo escuro de mamãe para iluminar seu caminho. Ela estava à porta de seu quarto, olhando para mim, enquanto eu passava para o hall silencioso. — Você vai me ajudar a mantê-lo aqui desta vez, não? — ela perguntou.
— Creio que sim.
— Por favor. — Os vaga-lumes lançavam manchas luminosas móveis sobre seu rosto pálido. — Desta vez ele não deve ir-se de novo.
— Está bem — falei, após ficar parado ali por um instante. — Mas não vai adiantar nada.
Ela se foi, e os vaga-lumes, com seus circuitos elétricos, adejavam à volta dela como uma constelação errante, mostrando-lhe o caminho pela escuridão. Ouvi-a dizer, francamente. — Precisamos tentar, de qualquer maneira.
Outros vaga-lumes seguiram-me até meu quarto.Quando o peso de meu corpo cortou um circuito na cama, os vaga-lumes desligaram. Era meia-noite, e minha mãe e eu esperávamos, nossos quartos separados pelo escuro, na cama. A cama começou a me embalar e cantar para mim. Toquei um botão; o canto e o embalo pararam. Não queria dormir. Não queria absolutamente dormir.
Esta noite não era diferente de mil outras, de nossa época. Acordaríamos à noite, e sentiríamos o ar frio esquentar-se, sentir o fogo no vento, ou ver as paredes queimando com uma cor brilhante por um segundo e então sabíamos que o foguete dele estava sobre nossa casa; seu foguete, e os carvalhos oscilando com a onda de choque. E eu ficaria ali, olhos arregalados, ofegante, e mamãe em seu quarto. Sua voz viria até mim pelo rádio inter-sala:
— Sentiu?
E eu responderia. — Foi ele, sim.
Era a nave de meu pai passando sobre nossa cidade, um vilarejo aonde os foguetes espaciais nunca chegavam, e ficaríamos acordados pelas duas horas seguintes, pensando: — Agora papai aterrissou em Springfield, agora, assinando os papéis, agora está no helicóptero, agora está sobrevoando o rio, agora as colinas, agora está descendo o helicóptero no pequeno aeroporto de Green Village, aqui... — E a noite já teria passado a metade quando, em nossas camas frias, mamãe e eu estaríamos escutando, escutando. — Agora, ele está vindo pela rua Bell. Ele sempre vem a pé... nunca toma um táxi... agora, através do parque, agora virando a esquina Cakhurst e agora...
Levantei a cabeça do travesseiro. Lá no extremo da rua, chegando mais e mais perto, passos rápidos e vigorosos. Agora, chegando em casa, subindo os degraus da frente. E estávamos ambos sorrindo, no escuro, mamãe e eu, quando ouvíamos a porta da frente abrir-se, falar uma breve palavra de boas-vindas, e fechar-se, lá embaixo...
Três horas depois girei a maçaneta de latão de seus aposentos, silenciosamente segurando a respiração, equilibrando-me numa escuridão tão grande quanto o espaço entre os planetas, mão esticada para apanhar a pequena caixa preta aos pés da cama de meu pai. Agarrando-a, corri silenciosamente para meu quarto, pensando. Ele não vai me dizer, ele não quer que eu saiba.
E da caixa aberta, tirou seu uniforme negro, como uma nebulosa escura, estrelas brilhando aqui e ali, distantes, no material. Peguei aquela coisa escura em minhas mãos quentes; cheirava ao planeta Marte, e a ferro, e o planeta Vênus, um cheiro a verdura, e o planeta Mercúrio, uma fragrância de fogo e enxofre, e podia cheirar a lua lei-tosa, e a dureza das estrelas. Empurrei o uniforme para dentro de uma centrífuga que construí na oficina, naquele nono ano da escola, e liguei-a. Logo um pó fino precipitou-se numa retorta. Este, pus sob um microscópio. E enquanto meus pais dormiam, despercebidos, enquanto nossa casa estava adormecida, todos os fogões e auxiliares automáticos e limpadores-robôs numa modorra elétrica, eu contemplava brilhantes fragmentos de poeira de meteoros, cauda de cometa, e argila do distante Júpiter, faiscando como outros mundos, por sua vez, o que me arrastava pelo tubo abaixo, um bilhão de milhas pelo espaço, a acelerações terríveis.
De madrugada, exausto com minha jornada e receoso de ser descoberto, devolvi o uniforme em sua caixa, ao quarto de dormir deles.
Então adormeci, para acordar só ao som da buzina do carro da lavagem a seco, que parou no jardim, lá embaixo. Levaram a caixa do uniforme negro com eles. Foi bom eu não ter esperado, pensei. Pois o uniforme estaria de volta em uma hora, limpo de todo seu destino e viagens.
Fui dormir de novo, com o pequeno frasco de poeira mágica no bolso de meu pijama, sobre as batidas de meu coração.
Quando desci, lá estava papai à mesa do desjejum, mordendo sua torrada. — Dormiu bem, Doug? — falou, como se estivesse estado lá todo o tempo, sem ter estado fora por três meses.
— Sim; tudo bem — respondi.
— Torradas?
Apertou um botão e a mesa do desjejum forneceu-me quatro pedaços, marrom-dourados.
Lembro-me de meu pai naquela tarde, cavando e cavando no jardim, como um animal à procura de algo, era o que parecia. Lá estava ele com seus longos braços morenos movendo-se rapidamente, plantando, amassando, arrumando, cortando, aparando, seu rosto queimado sempre voltado para o chão, olhos sempre para baixo, para aquilo que estava fazendo, nunca para o céu, nunca olhando para mim, ou para mamãe, a menos que nos ajoelhássemos com ele para sentir a terra umedecer nossos joelhos, através de nossas jardineiras, para pôr as mãos na terra escura, e não olhar para aquele céu maluco, e brilhante. Então ele olharia para os lados, para mamãe ou para mim, e piscaria para nós, alegre, continuando abaixado, rosto para baixo, o céu olhando fixamente para suas costas.
Naquela noite, sentamo-nos no balanço mecânico da varanda, que nos embalava e soprava uma brisa sobre nós, cantando. Era verão e havia luar, e tínhamos limonada para beber, e segurávamos os copos frios nas mãos, e papai lia as estéreo-notícias inseridas naquele chapéu especial que se põe na cabeça e se vira a página microscópica à frente das lentes, piscando três vezes sucessivamente. Papai fumava cigarros e contou-me como era quando ele era um menino, em 1997. Depois de um momento, falou: — Por que não está brincando de chutar lata, Doug?
Não falei nada, mas mamãe interferiu. Ele brinca nas noites em que você não está aqui.
Papai olhou para mim e então, pela primeira vez naquele dia, para o céu. Mamãe sempre o observava quando ele olhava para as estrelas, No primeiro dia e noite em que ele voltava para casa, não olhava muito para o céu. Pensava nele só na jardinagem, furiosamente, seu rosto quase enfiado na terra. Mas na segunda noite, ele olhava para as estrelas um pouco mais. Mamãe não receava muito o céu de dia, mas eram as estrelas, à noite, que ela desejaria desligar, e por vezes eu quase podia vê-la procurando um interruptor em sua mente, mas nunca o achava. E na terceira noite, talvez papai ficasse ali na varanda até muito depois de termos ido para a cama, e então eu ouvia mamãe chamá-lo para entrar, quase como ela me chamava na rua, às vezes. E então eu ouvia papai posicionar a trava da porta de olho elétrico, com um suspiro. E na manhã seguinte, ao desjejum, eu olharia para baixo, e veria sua caixinha preta perto de seus pés, ao passar manteiga em sua torrada, enquanto mamãe dormia até tarde.
— Bem, até mais, Doug — ele diria, e apertaríamos as mãos.
— De volta em três meses?
— Isso.
E caminharíamos pela rua, sem tomar helicóptero, ou besouro, ou ônibus, apenas andando, com seu uniforme escondido na caixa, sob o braço; ele não queria que ninguém pensasse que ele se envaidecia por ser um Astronauta.
Mamãe iria tomar o desjejum, um pedaço de torrada, só, cerca de uma hora depois.
Mas agora, esta noite era a primeira, a boa, e ele não estava olhando muito para as estrelas.
— Vamos ao parque de diversões televisivo? — falei.
— Grande — concordou papai. Mamãe sorriu para mim.
E fomos à cidade, num helicóptero e levamos papai por mil mostras, para manter seu rosto e cabeça aqui embaixo, conosco, sem olhar para nada mais. E enquanto ríamos das coisas engraçadas, e olhávamos sérios para as sérias, eu pensava — Meu pai vai para Saturno e Netuno e Plutão, mas nunca me traz presentes. Outros meninos, cujos pais vão ao espaço, trazem de volta pedaços de minério de Calisto e grandes pedaços negros de meteoro, ou areia azul. Mas eu, preciso arranjar minha coleção, comprando dos outros, as pedras marcianas e as areias de Mercúrio que enchiam meu quarto, mas sobre os quais meu pai nunca fazia nenhum comentário.
Numa ocasião, lembrei-me, ele trouxe algo para mamãe. Ele plantou uns girassóis marcianos uma vez, em nosso jardim, mas depois que ele estava fora um mês, e os girassóis tinham crescido, mamãe saiu correndo, um dia, e cortou-os todos.
Sem pensar, enquanto estávamos parados numa das mostras tridimensionais, perguntei a papai a pergunta que sempre fazia:
— Como é o espaço?
Mamãe lançou-me um olhar assustado. Era tarde demais. Papai ficou ali por meio minuto, tentando encontrar uma resposta, então deu de ombros.
— É a melhor coisa, de uma vida inteira de coisas boas. — Então, caiu em si. — Ora, de fato, não é nada. Rotina. Você não gostaria — olhou para mim, apreensivo.
— Mas você sempre volta.
— Hábito.
— Para onde vai, depois?
— Ainda não decidi. Vou pensar.
Ele sempre ia pensar. Naqueles dias, pilotos de foguetes eram raros e ele poderia escolher à vontade, trabalhar quando quisesse. Na terceira noite de sua estada em casa, podia-se vê-lo escolhendo entre as estrelas.
— Vamos — interveio mamãe — vamos voltar para casa.
Era ainda muito cedo quando chegamos em casa. Queria que papai vestisse seu uniforme. Eu não deveria ter pedido; sempre fazia mamãe infeliz; mas eu não podia me conter. Eu insistia, se bem que ele sempre recusasse. Nunca o tinha visto vestido, mas por fim, disse. — Ora, está bem.
Esperamos na sala, enquanto ele subia, pelo tubo de ar. Mamãe olhava para mim entediada, como se não pudesse acreditar que seu próprio filho pudesse fazer isto com ela. Desviei o olhar. — Desculpe.
— Você não está ajudando nada; nada mesmo. Logo depois um sopro no tubo de ar.
— Aqui estou — falou papai, em voz baixa. Olhamos para ele, em seu uniforme.
Era preto brilhante, com botões e frisos prateados até o calcanhar das botas, e parecia como se alguém tivesse recortado os braços e pernas e tronco de uma nebulosa escura, com pequeninas estrelas brilhando através dela. Ajustava-se como uma luva nu'a mão esguia, e cheirava a ar fresco e metal e espaço. Cheirava a fogo, e tempo.
Papai estava de pé, sorrindo embaraçado, no centro da sala.
— Dê uma volta — sugeriu mamãe.
Os olhos dela eram distantes, olhando para ele.
Quando ele se vai, ela não fala sobre ele. Nunca falou nada, exceto sobre o tempo, ou a condição do meu pescoço, e sua necessidade de ser limpo direito, ou que ela não dormia, à noite. Uma vez ela disse que a luz estava muito forte, à noite.
— Mas, não há lua, esta semana — respondi-lhe.
— Há a luz das estrelas.
Fui à loja e trouxe-lhe cortinas verdes, mais escuras. Enquanto estou na cama, à noite, posso ouvi-la puxá-las até fechar bem as janelas. Fazia um longo ruído farfalhante.
Uma vez, tentei aparar a grama.
— Não. — Mamãe estava à porta. — Deixe esse cortador. Assim, a grama ficava sempre três meses sem ser cortada. Papai cortava-a quando voltava para casa.
Ela não me deixaria fazer também qualquer outra coisa, assim como reparar a máquina elétrica de desjejum, ou o leitor mecânico de livros. Ela economizava tudo, como que para o Natal. E então, eu veria papai fazendo consertos, às voltas com as ferramentas, sempre sorrindo enquanto trabalhava, e mamãe sorrindo para ele, feliz.
Não, ela nunca falava com ele enquanto ele estava fora. E quanto a papai, nunca tentou entrar em contato através de milhões de milhas. Ele dissera, uma vez: — Se eu a chamasse, desejaria estar com você, e não ficaria feliz.
Uma vez, papai disse-me: — Sua mãe me trata, às vezes, como se eu não estivesse aqui; como se eu fosse invisível.
Já a vi portar-se assim. Ela olharia além dele, sobre seus ombros, para seu queixo ou mãos, mas nunca para seus olhos. Se ela olhava para os olhos dele, era com os olhos cobertos com uma película, como um animal adormecido. Ela dizia sim na hora certa, e sorria, mas sempre meio segundo depois que o esperado.
— Para ela, não estou presente — disse papai.
Mas em outros dias, ela estaria presente, e ele estaria presente para ela, e eles segurariam as mãos, e passeariam pelo quarteirão, ou por aí, com o cabelo da mamãe esvoaçando para trás, como o de uma menina, e ela desligaria todos os aparelhos mecânicos na cozinha, e faria bolos incríveis e tortas e biscoitos, olhando intensamente para o rosto dele, o sorriso dela então real. Mas ao fim desses dias, quando ele estava lá para ela, ela sempre chorava. E papai ficaria ali, desamparado, olhando pela sala como que tentando achar uma resposta, mas nunca encontrando.
Papai voltou-se, lentamente, com seu uniforme, para que o víssemos.
— Vire de novo — disse mamãe.
Na manhã seguinte, papai entrou correndo em casa com u'a mancheia de bilhetes. Bilhetes de foguete, cor-de-rosa para a Califórnia, azuis para o México.
— Vamos! Compraremos roupas descartáveis e as queimaremos quando sujarem. Veja, tomaremos o foguete do meio-dia para Los Angeles, o helicóptero das duas para Santa Bárbara, o avião das nove para Ensenada, quando dormiremos!
E fomos para a Califórnia, e para cima e para baixo pela costa do Pacífico por um dia e meio, parando finalmente nas areias de Malibu, para cozinhar vienenses, à noite. Papai estava sempre escutando, ou cantando, ou olhando tudo à sua volta, agarrando-se às coisas como se o mundo fosse uma centrífuga tão rápida que ele poderia ser lançado para longe de nós a qualquer instante.
Na última noite, em Malibu, mamãe estava no quarto do hotel. Papai ficou deitado na areia a meu lado um bom tempo, ao sol quente. — Ah — ele suspirou — isso é que é vida. — Seus olhos estavam semicerrados; bebia o sol. — Você sente falta disto — falou.
Ele queria dizer, "no foguete", claro. Mas ele nunca falava "foguete", ou o mencionava, e a todas as coisas que não se pode ter nele. Não se podia ter um vento salgado no foguete, ou um céu azul ou sol amarelo, ou a cozinha de mamãe. Não se podia conversar com o filho de quatorze anos, num foguete.
— Bem, estou ouvindo — diria, por fim.
E eu sabia que então conversaríamos, como sempre o fazíamos, por três horas, sem parar. A tarde toda murmuraríamos para cá e para lá ao sol preguiçoso sobre minhas notas, a altura que eu conseguia pular ou a que velocidade podia nadar.
Papai fazia que sim com a cabeça, enquanto eu falava, e sorria e dava-me tapinhas de aprovação. Andávamos. Não falávamos de foguetes, ou do espaço, mas do México, para onde viajamos uma vez num velho carro, e das borboletas que apanhamos nas florestas chuvosas do México, verde e quente, ao meio-dia, vendo centenas de borboletas grudadas no nosso radiador, morrendo ali, batendo suas asas azuis e vermelhas, contorcendo-se, linda e tristemente. Falávamos dessas coisas, ao invés das coisas sobre as quais eu queria conversar. E ele me escutava. Era o que fazia, como se estivesse tentando encher-se com todo o som que pudesse ouvir. Escutava o vento e a arrebentação do mar, e minha voz, sempre com uma atenção arrebatada, uma concentração que quase excluía os corpos físicos e conservavam apenas os sons. Fechou os olhos para escutar. Eu via escutar o cortador de grama, quando cortava a grama manualmente, ao invés de usar o controle remoto, e eu o veria cheirar a grama cortada ao ser lançada para cima, e para trás, na direção dele, como uma fonte verde.
— Doug — ele falou, pelas cinco da tarde, enquanto estávamos pegando nossas toalhas e caminhando pela praia perto das ondas. — Quero que me prometa algo.
— O quê?
— Nunca seja um astronauta. Eu parei.
— Estou falando sério. Porque quando você está lá, você deseja estar aqui, e quando está aqui, quer estar lá. Não comece com isto. Não deixe a coisa tomar conta de você.
— Mas...
— Não sabe o que é. Sempre que estou lá, penso: "se eu voltar, ficarei lá; nunca mais vou sair". Mas eu volto, e acho que sempre voltarei.
— Já pensei muitíssimo em ser Astronauta — falei-lhe.
Ele não me escutou. — Eu tento ficar. Sábado passado, quando fui para casa, pensei com toda a força em ficar aqui.
Lembrei-me dele no jardim, suando, e a viagem, e as coisas que fez, e escutou, e sabia que fazia isto para se convencer que o mar e as cidades e a terra e sua família eram as únicas coisas reais e boas. Mas eu sabia aonde ele estaria, hoje à noite: olhando para a joalheria de Órion, da nossa varanda.
— Prometa que não será como eu — ele falou. Apertou minha mão. — Bom menino.
O jantar foi ótimo naquela noite. Mamãe tinha se afanado na cozinha, com mancheias de canela, e massas, e potes e panelas chocando-se, e agora havia um grande peru fumegante na mesa, com temperos, ervilhas e torta de abóbora.
— No meio de agosto? — disse papai, surpreso.
— Você não estará aqui para o Dia de Ação de Graças.
— É, não estarei.
Ele cheirou tudo. Ergueu a tampa de cada terrina e deixou o aroma evaporar-se por seu rosto queimado de sol. Dizia "Ah!", em cada uma. Olhou para a sala e para suas mãos. Olhou para os quadros na parede, as cadeiras, a mesa, eu, e mamãe. Limpou a garganta. Eu vi que ele havia se decidido. — Lilly?
— Sim? — Mamãe olhou através de sua mesa, que ela havia arrumado como uma maravilhosa armadilha de prata, um miraculoso poço de molho, no qual, como besta do passado se debatendo num tanque de piche, seu marido poderia finalmente ser apanhado e mantido, olhando por uma gaiola de ossos de peru, seguro para sempre. Seus olhos cintilavam.
— Lilly — repetiu ele.
Vá em frente, eu pensava, febrilmente. Diga depressa: diga que vai ficar em casa, desta vez, para sempre, e nunca mais vai se afastar; diga!
Justo naquela hora, um helicóptero que passava estremeceu a sala, e a janela tremeu, com um som cristalino. Papai olhou para a janela.
As estrelas azuis da tardinha estavam lá, e Marte, o planeta vermelho, estava se erguendo, no leste.
Papai olhou para Marte por um minuto inteiro. Então estendeu-a mão, aturdido, para mim. — Passe-me as ervilhas.
— Com licença — falou mamãe — vou pegar o pão. Correu para a cozinha.
— Mas há pão na mesa — falei.
Papai nem olhou para mim, quando começou a comer.
Não conciliei o sono, naquela noite. Desci, à uma da madrugada e o luar era como gelo nos telhados das casas, e o orvalho rebrilhava como um campo de neve, sobre nosso gramado. Fiquei à porta, de pijama, sentindo o vento quente da noite, e percebi que papai estava sentado no balanço mecânico da varanda, balançando lentamente. Eu podia ver seu perfil, reclinado para trás, e ele estava olhando as estrelas girarem no céu. Seus olhos eram como cristal cinzento ali, a lua, em cada um.
Saí, e sentei-me a seu lado.
Deslocamo-nos um pouco, com o balanço.
Por fim, falei — De quantas maneiras pode-se morrer no espaço?
— Um milhão.
— Diga algumas.
— Os meteoros podem atingi-lo. O ar sai do foguete. Ou cometas podem levá-lo embora. Concussão. Estrangulaçâo. Explosão. Força centrífuga. Demasiada aceleração. Aceleração insuficiente. O calor, o frio, o sol, a lua, as estrelas, os planetas, os asteróides, os planetóides, a radiação...
— E eles enterram os mortos?
— Eles nunca os encontram.
— Para onde vão?
— Um bilhão de milhas de distância. Túmulos errantes, como chamam. Você se transforma num meteoro ou num planetóide viajando para sempre pelo espaço.
Não falei nada.
— Tem uma coisa — acrescentou, depois — é bem rápido, no espaço. A morte. Acaba-se num estalo. Não se agoniza. Quase sempre, você nem se apercebe. Está morto e pronto.
Fomos dormir.
Era manhã.
De pé, na porta, papai ouvia o canário amarelo cantar em sua gaiola dourada.
— Bem, decidi-me; da próxima vez que voltar para casa, ficarei de uma vez por todas.
— Papai! —falei.
— Diga isso à sua mãe, quando ela se levantar.
— Está falando sério?
Assentiu, gravemente. — Vejo-o em três meses.
E lá foi ele pela rua, carregando seu uniforme em sua caixa secreta, assobiando e olhando para as altas árvores verdes e pegando frutinhas de arbustos, ao passar por eles, jogando-as à sua frente, enquanto caminhava na penumbra luminosa da manhãzinha...
Interroguei mamãe sobre umas coisas, naquela manhã, depois que papai já tinha ido, havia algumas horas. — Papai disse que às vezes você não age como se o visse ou escutasse.
E então calmamente, ela explicou-me tudo.
— Quando ele foi para o espaço, há dez anos, disse para mim mesma: "Ele está morto". Ou como se estivesse morto. Então, considere-o morto. E quando ele voltar, três ou quatro vezes por ano, não é ele, é só uma remota memória agradável, ou um sonho. E se uma memória cessa, ou um sonho, não fere nem a metade. Assim, a maior parte do tempo, penso nele como se estivesse morto...
—Mas, outras vezes...
— Outras vezes não consigo evitar. Faço tortas e trato-o como se ele estivesse vivo, e então fico magoada. Não; é melhor pensar que ele tem estado ausente há dez anos, e que nunca mais o verei. Não fere tanto.
— Ele não disse que da próxima vez vai ficar?
Ela abanou a cabeça. — Não; ele está morto. Estou certa disso.
— Ele voltará vivo, então.
— Há dez anos eu pensei: E se ele morrer em Vênus? Então não suportaremos mais olhar para Vênus de novo. E se ele morrer em Marte? Nunca mais poderemos olhar para Marte, todo vermelho no céu, sem desejar entrar em casa e trancar a porta. Ou se ele morrer em Júpiter ou Saturno, ou Netuno? Nas noites em que aqueles planetas estiverem alto no céu, não desejaríamos ver as estrelas.
— Receio que não.
A mensagem veio no dia seguinte.
O mensageiro deu-ma e eu a li, de pé, na varanda. O sol estava se pondo. Mamãe estava à porta de tela, atrás de mim, olhando-me fechar a mensagem, e guardá-la em meu bolso.
— Mamãe — comecei a falar.
— Não me diga nada que eu já não saiba. Ela não chorou.
Bem, não era Marte, tampouco Vênus, nem Júpiter ou Saturno que o matara. Não precisaríamos pensar nele cada vez que Júpiter ou Saturno iluminasse o céu noturno.
Isto era diferente.
Sua nave caíra no Sol.
E o sol era grande, e ígneo, e impiedoso, e estava sempre no céu, e não se podia ficar longe dele.
De modo que por um longo tempo depois que meu pai morreu, minha mãe passou a dormir durante o dia, e não saía nunca. O desjejum era à meia-noite e o almoço às três da madrugada, e a janta na hora fria e cinzenta das 6 da manhã. Íamos a shows noturnos, e íamos dormir ao nascer do sol, com todas as cortinas verde-escuro bem fechadas, em todas as janelas.
E, por um bom tempo, os únicos dias em que saíamos para passear era quando estava chovendo, e não havia sol.
— Sul — falou o capitão.
— Mas — respondeu o comandado — não há direções, lá no espaço.
— Quando você vai direto para o Sol — replicou o capitão — e tudo se torna amarelo e quente e preguiçoso, então está indo numa direção só. — Fechou os olhos e pensou na terra remota, morna, ardente, seu hálito movendo-se levemente em sua boca. — Sul. — E concordava consigo mesmo, com a cabeça. — Sul.
Seu foguete era o Copa de Oro, também chamado de Prometeu, e Ícaro, e seu destino era realmente o forte sol do meio-dia. Com a moral mais alta, quase poderiam ter empacotado duas mil doses de limonada e mil cervejas para esta jornada ao maior dos Saharas. Mas agora, com o Sol queimando-os, lembravam-se de numerosos versos e citações:
— Os pomos dourados do Sol?
— Yeats.
— Não mais temer o calor do Sol?
— Shakespeare, claro!
— "Copa de Ouro?" Steinbeck. "A Escudela de Ouro?" Stephens. E que tal aquele pote de ouro ao fim do arco-íris? Há um nome para a nossa trajetória! Arco-íris!
— Temperatura?
— Mil graus Fahrenheit.
O capitão olhou pela grande escotilha com vidro escuro, e de fato, lá estava o sol, e ir até aquele sol, e tocá-lo, e roubar parte dele para sempre era sua única e silenciosa idéia. Nesta nave estavam combinados o friamente delicado e o friamente prático. Através de corredores de gelo e geada leitosa, inverno de amônia e tempestades de neve. Qualquer centelha daquele imenso coração consumindo-se lá fora, além do rijo casco da nave, qualquer hálito de fogo que pudesse penetrar, encontraria o inverno, dormitando por aqui como nas horas mais frias de fevereiro.
O áudio-termômetro murmurou, em meio ao silêncio ártico: "Temperatura: dois mil graus."
Caindo, pensou o capitão, como um floco de neve no colo de junho, no calor de julho, e nos sufocantes dias de cachorros loucos de agosto.
— Três mil graus Fahrenheit.
Sob os campos de neve, os motores afanavam-se, refrigerantes bombeados a dez mil milhas por hora, em anéis orvalhados de boa-constrictor.
— Quatro mil graus Fahrenheit. Meio-dia. Verão. Julho.
— Cinco mil Fahrenheit.
E por fim, o capitão falou, com toda a calma da jornada em sua voz:
— Agora estamos tocando o sol.
Seus olhos, pensando nisso, eram ouro derretido.
— Sete mil graus.
Estranho, como um termômetro mecânico pode soar excitado, muito embora possua apenas uma fria voz de aço.
— Que horas são? — alguém perguntou. Todos sorriram.
Pois agora, só havia o sol, e o sol, e o sol.
Era todo o horizonte, era todas as direções. Queimava os minutos, os segundos, os vidros de relógio; os relógios; queimava todo o tempo e toda a eternidade. Queimava as pálpebras e o soro do escuro mundo atrás das pálpebras, a retina, o cérebro, escondido; e queimava o sono e as doces memórias de sono e frios ocasos.
— Cuidado!
— Capitão!
Bretton, o contramestre, caiu sobre o convés gelado. Sua roupa protetora assobiava por onde, rasgada, desabrochava seu calor, seu oxigênio, e sua vida, num vapor gélido.
— Depressa!
Dentro da máscara facial plástica de Bretton, cristais leitosos já haviam acumulado em loucos padrões. Inclinaram-se para vê-lo.
— Um defeito estrutural em sua roupa, Capitão. Está morto.
— Congelado.
Olharam para aquele outro termômetro que mostrava como o inverno estava vivo, nesta nave enregelada. Mil graus abaixo de zero. O capitão olhou a estátua de gelo, e os cristais quebradiços que se reuniam sobre ela, enquanto ele olhava. Ironia das mais frias, pensava; um homem com medo do fogo, e morto pelo gelo.
O capitão afastou-se. — Não há tempo; não há. Deixem-no aí. — Sentiu sua língua mover-se. — Temperatura?
Os mostradores saltaram para quatro mil graus.
— Olhe. Pode olhar? Veja só. O gelo estava derretendo.
O capitão olhou rapidamente para o teto.
Como se um projetor de filmes tivesse lançado uma única e nítida memória num quadro mental, achou sua mente ridiculamente focada numa cena há muito esquecida, da infância.
Nas manhãs de primavera, quando menino, ficava à janela de seu quarto, respirando o ar, cheirando a neve, para ver o sol derreter o último gelo do inverno. Um gotejar de vinho branco, o sangue do frio cada vez mais quente, abril caindo daquela clara lâmina de cristal. Minuto a minuto, a arma de dezembro tornava-se menos perigosa. E então, por fim, o gelo caía com um só tilintar, no pedregulho do caminho lá embaixo.
— A bomba auxiliar está quebrada, senhor. A refrigeração. Estamos perdendo nosso gelo!
Uma pancada de chuva quente caiu sobre eles. O capitão olhou rapidamente para a direita e para a esquerda. — Verifiquem o problema! Depressa!
Os homens correram; o capitão, dobrado ao ar quente, praguejando, sentia suas mãos na máquina fria, sentia-os procurando, tateando, e enquanto trabalhava, viu um futuro que estava à distância de uma respiração. Viu a casca destacar-se da colméia do foguete, mostrando os homens correndo, correndo, bocas gritando, sem som. O espaço era um poço negro aonde a vida mergulhava seus rugidos e terrores. Grite um grito bem alto, mas o espaço o abafa antes de chegar à metade da sua garganta. Os homens tentavam fugir, formigas numa caixa de fósforo em chamas; a nave era lava gotejante, um jorro de vapor, nada!
— Capitão?
O pesadelo sumiu num piscar de olhos.
— Aqui. — Ele trabalhava na suave chuva quente que caía dos conveses superiores. Mexia com a bomba auxiliar. — Maldição! — Puxou a linha de alimentação. Quando viesse, seria a morte mais rápida na história da morte. Um momento, gritar; um quente relâmpago depois, um bilhão de bilhões de toneladas de fogo do espaço assobiaria, sem fazer ruído, no espaço. Jogados como morangos numa fornalha, seus pensamentos oscilariam ao ar abrasador durante um só fôlego após o que seus corpos seriam calcinados, e depois, gás fluorescente.
— Pronto! — Bateu na bomba auxiliar com uma chave de fenda. — Assim! Estremeceu. A completa aniquilação. Fechou os olhos, bem apertados. Senhor, pensou ele, estamos acostumados com mortes mais vagarosas, medidas em minutos e horas. Mesmo vinte segundos agora seriam uma morte lenta, em comparação com essa coisa idiota e faminta, esperando para nos devorar!
— Capitão, vamos embora, ou ficamos?
— Aprontem a Copa. Tome, acabe isto!
Virou-se e pôs a mão no acionamento da grande Copa; encaixou os dedos na luva-robô. A torção de sua mão movia outra mão, gigantesca, com gigantescos dedos de metal, do interior da nave. Agora, agora a grande mão metálica saía, segurando a enorme Copa de Oro, segurando o fôlego, na fornalha química, o corpo material, e a carne incorpórea do Sol.
Um milhão de anos atrás, pensou o Capitão, depressa, depressa, enquanto movia a mão, e a Copa — há um milhão de anos atrás um homem nu, numa trilha solitária, viu um raio atingir uma árvore. E enquanto seu clã corria, com suas mãos ele tomou um galho em chamas, queimando a carne de seus dedos, para levá-lo, correndo em triunfo, protegendo-o da chuva com o corpo, para sua caverna, aonde riu-se esganiçadamente e jogou-se num monte de folhas, dando o verão a sua gente. E a tribo aproximou-se, afinal, tremendo, do fogo, e estenderam suas mãos vacilantes, e sentiram a nova estação em sua caverna, esta manchinha amarela de um clima diferente, e eles também, nervosamente, acabaram sorrindo. E o dom do fogo lhes pertencia.
— Capitão!
Levou quatro segundos para que a grande mão empurrasse a Copa vazia para o fogo. Assim cá estamos nós, hoje, em outra trilha, ele pensou, tentando encher um recipiente de precioso gás e vácuo, u'a mancheia de um fogo diferente com que voltar correndo para o espaço frio, iluminando nosso caminho, levando para a Terra o dom do fogo que poderia queimar para sempre. Por quê?
Ele conhecia a resposta antes da pergunta.
Porque os átomos, que trabalhamos com nossas mãos, na Terra, são lamentáveis; a bomba atômica é lamentável, e pequena, e nosso conhecimento é lamentável, e pequeno, e só o Sol realmente sabe o que queremos saber, e só o Sol tem o segredo. Além do que ele é grande, é um risco, é uma grande coisa vir aqui, e voltar correndo. Não há razão, realmente, exceto o orgulho e a vaidade de pequenos insetos em forma de homens pulando para picar e escapar à fera. Vejam! Olhem! Gritaremos que o fizemos! E aqui está nossa taça de energia, fogo, vibração, chame como quiser, que pode dar energia para nossas cidades e fazer navegar nossos navios, e iluminar nossas bibliotecas e bronzear nossas crianças, e cozer o pão nosso de cada dia, e cozinhar o conhecimento de nosso universo por mil anos, até que acabe. Aqui, desta taça, todos os homens de boa vontade, da ciência e da religião: bebam! Aqueçam-se durante a noite da ignorância, as longas nevascas da superstição, os frios ventos do descrédito, e do grande medo do escuro, de cada homem. Assim, estendemos a mão como mendigos...
— Ah...
A Copa mergulhou no Sol. Recolheu um pouco da carne de Deus, o sangue do universo, o pensamento cegante, a ofuscante filosofia que estabeleceu e criou uma galáxia, que lentamente varria os planetas em seus campos que os solicitava ou deixava, para suas vidas e vivências.
— O que acontecerá quando puxarmos para dentro? Aquele calor extra então, Capitão?
— Só Deus sabe...
— Agora, devagar — sussurrou o capitão.
— Bomba auxiliar reparada, senhor.
— Ligue!
A bomba disparou.
— Fechar a tampa da Copa, e trazer para dentro agora, devagar; devagar. — A bela mão fora da nave estremeceu, tremenda imagem de seu próprio gesto, e mergulhou, bem lubrificado, imersa no silêncio, dentro do corpo da nave. A Copa, tampa fechada, pingando com flores amarelas e estrelas brancas, deslizou para dentro. O áudio-termômetro gritou. O sistema de refrigeração abalou-se; fluidos amoniacais pulsaram pelas paredes como o sangue na cabeça de um louco furioso.
Fechou a porta estanque exterior.
— Agora.
Esperaram. O pulso da nave subia. Seu coração acelerava, batia, corria, com a Copa dentro dele. O sangue frio corria à sua volta, no entanto.
O capitão exalou, lentamente.
O gelo parou de pingar do teto. Solidificou-sé de novo.
— Vamos embora daqui. A nave fez a volta e saiu.
— Escutem!
O coração do foguete estava desacelerando, progressivamente. Os mostradores iam caindo, na casa dos milhares; as agulhas zuniam, invisíveis. A voz do termômetro cantava a mudança de estações. Estavam agora todos pensando, juntos: Vá embora, cada vez mais longe do fogo e das chamas, do calor e do derretimento, do amarelo e do branco. Vá embora, agora, para o frio e o escuro. Em vinte horas, talvez, eles podem até desmantelar alguns refrigeradores, e deixar o inverno morrer. Logo eles estariam se movendo por uma noite tão fria que poderia vir a ser necessário utilizar a nova fornalha do foguete, retirar calor do fogo enclausurado que agora carregavam, como uma criança por nascer.
Estavam indo para casa.
Estavam indo para casa e havia alguns minutos, ainda enquanto se dirigia para o corpo de Bretton, sobre um banco de branca neve invernal,para que o capitão se lembrasse de um poema que escrevera muitos anos antes:
Por vezes, vejo o sol como árvore candente,
Seu fruto dourado numa atmosfera sem ar,
Seus pomos, com o verme do homem e da gravidade,
Sua veneração exalando por todo o lugar,
Quando o homem vê o Sol como árvore candente...
O capitão ficou ao lado do corpo por alguns minutos, sentindo
muitas coisas diversas. Sinto-me triste, pensava, e sinto-me bem, e sinto-me como um menino que vem da escola com um maço de flores do campo.
— Bem — disse o capitão, olhos fechados, suspirando — Bem, aonde vamos agora, hein, aonde vamos? — Sentiu seus homens, sentados, de pé, à sua volta, o terror dentro deles, sua respiração tranqüila. — Quando você já foi ao Sol, numa longa, longa viagem, e tocou-o, e flutuou acima dele e pulou para longe, para onde mais se pode ir? Quando se vai para longe do calor e da luz do meio-dia e do torpor, para onde mais se pode ir?
Seus homens esperavam que ele dissesse alguma resposta. Esperavam que ele reunisse toda a frieza e a brancura e o bem-vindo e refrescante clima da palavra em sua mente, e eles viram-no assentar a palavra, como um pedaço de sorvete, em sua boca, rolando-a cuidadosamente.
— Só há uma direção, no espaço, daqui por diante — falou, por fim.
Eles esperaram. Esperaram, enquanto a nave se movia rapidamente para a fria escuridão, para longe da luz.
— Norte — murmurou o capitão. — Norte.
E todos sorriram, como se uma brisa tivesse vindo subitamente, no meio de uma tarde quente.
O anúncio na parede parecia tremular sob uma película de água quente. Eckels sentiu suas pálpebras estremecerem sobre seu olhar, e o anúncio queimava, na momentânea escuridão:
SAFARIS NO TEMPO, INC.
SAFARIS PARA QUALQUER ANO DO PASSADO
VOCÊ DIZ QUE ANIMAL.
NÓS O LEVAMOS LÁ.
VOCÊ O ABATE.
Uma flegma quente acumulou-se na garganta de Eckels; engoliu e empurrou-a para baixo. Os músculos ao redor de sua boca formaram um sorriso enquanto ele estendeu sua mão lentamente pelo ar, e naquela mão, balançava-se um cheque de dez mil dólares, para o homem atrás da escrivaninha.
— Este safári garante que eu volte vivo?
— Não garantimos nada — falou o funcionário — exceto os dinossauros. — Voltou-se. — Este é o Sr. Travis, seu Guia, no safári ao passado. Ele vai dizer-lhe o que e aonde atirar. Se ele disser para não atirar, não se atira. Se desobedecer às instruções, há uma pesada multa de mais de dez mil dólares, mais um possível processo do governo, quando voltar.
Eckels olhou, através do amplo escritório, numa completa confusão disforme, de fios entrelaçados e caixas de aço zumbindo, para uma aurora que agora reluzia laranja, então prateada, e então, azul. Havia um som como uma descomunal pira queimando todo o Tempo, todos os anos e todos os calendários, todas as horas empilhadas e incendiadas.
Um toque da mão e esta queima, instantaneamente, se reverteria lindamente. Eckels lembrou-se literalmente das palavras da propaganda. De carvões e cinzas, da poeira e das brasas, como salamandras douradas, os velhos tempos, os anos jovens, podem saltar; rosas suavizando o ar; cabelo branco enegrecendo-se, rugas desaparecendo; tudo ,voltando totalmente à origem, fugir à morte, precipitar-se para o começo de tudo, o sol nascendo nos céus ocidentais, e pondo-se gloriosamente no leste, luas devorando-se a si mesmas no sentido oposto ao costumeiro, e tudo se sobrepondo, como caixas chinesas, coelhos em cartolas, tudo e todos retornando à morte viva, a morte da semente, a morte verde, ao tempo de antes do começo. O toque da mão poderia fazê-lo, o mero toque da mão.
— Inacreditável. — Eckels respirava, com a luz da Máquina sobre seu rosto fino. — Uma verdadeira Máquina do Tempo. — Abanou a cabeça. — É de fazer pensar. Se a eleição tivesse ido mal ontem, eu poderia estar agora me afastando dos resultados. Felizmente Keith ganhou. Será um bom presidente para os Estados Unidos.
— Sim — falou o homem por trás da mesa. — Temos sorte. Se Deutscher tivesse ganho, teríamos a pior ditadura. Há sempre um homem anti-tudo, um militarista, um anti-Cristo, anti-humano, anti-intelectual. O povo nos requisitou, sabe, como que brincando, mas a sério. Diziam que se Deutscher se tornasse presidente, queriam viver em 1492. Claro, não é o nosso negócio conduzir Fugas, mas organizar Safáris. De qualquer maneira, Keth é o presidente, agora. Tudo com que precisa preocupar-se agora é...
— Caçar meu dinossauro — Eckels acabou para ele.
— Um Tyranossaurus rex. O Lagarto Tirano, o monstro mais inacreditável de toda a história. Assine este termo. O que quer que aconteça com você, não somos responsáveis. Esses dinossauros são muito vorazes.
Eckels animou-se, nervoso. — Tentando assustar-me!
— Francamente, sim. Não queremos que vá alguém que entre em pânico ao primeiro tiro. Seis lideres de safári foram mortos no ano passado, e uma dúzia de caçadores. Estamos aqui para dar-lhe a maior emoção que um caçador de verdade jamais almejou. Mandá-lo de volta sessenta milhões de anos, para pegar a maior caça de todos os tempos. Seu cheque ainda está aqui. Pode rasgá-lo.
O Sr. Eckels olhou para o cheque. Seus dedos retorceram-se.
— Boa-sorte — falou o homem atrás da escrivaninha. — Sr. Travis, ele é todo seu.
Moveram-se silenciosamente, atravessando a sala, levando suas armas com eles, em direção à Máquina, rumo ao metal prateado e às luzes gritantes.
Primeiro, um dia e então uma noite e então um dia e então uma noite, e então era dia-noite-dia-noite-dia. Uma semana, um mês, um ano. uma década! 2 055 a. D., 2 019 a. D., 1 999! 1 957! Partida! A máquina rugia.
Puseram suas máscaras de oxigênio e testaram os intercomunicadores.
Eckels inclinou-se no assento estofado, rosto pálido, maxilar enrijecido. Sentia o tremor em seus braços, olhou para baixo e achou suas mãos firmes no novo rifle. Haviam quatro outros homens na Máquinas. Travis, o líder do Safári, seu assistente, Lesperance, e mais dois outros caçadores, Billings e Kramer. Sentavam-se olhando uns para os outros, e os anos ardiam à volta deles.
— Estas armas podem dar conta de um dinossauro? — Eckels sentiu sua boca dizendo.
— Se os acertar direito — disse Travis pelo rádio do capacete. — Alguns dinossauros têm dois cérebros, um na cabeça e outro no fim da espinha. Ficamos longe destes. É abusar da sorte. Atire as duas primeiras vezes nos olhos, se puder, e cegue-os, e volte a atirar no cérebro.
A Máquina bramia. O Tempo era um filme passado ao contrário. Os sóis voavam e dez milhões de luas, atrás deles. — Pense só — disse Eckels. — Todos os caçadores que jamais viveram nos invejariam hoje. Isto faz a África parecer com o Illinois.
A Máquina desacelerou; seu grito caiu para um sussurro. A Máquina parou.
O sol parou no céu.
A névoa que envolvera a Máquina dissipou-se e estavam num tempo antigo, muito antigo mesmo, três caçadores e dois chefes de safári com suas armas metálicas sobre os joelhos.
— Cristo ainda não nasceu — disse Travis. — Moisés ainda não foi à montanha, para falar com Deus. As pirâmides ainda estão na terra, esperando para serem recortadas e montadas. Lembrem-se disso. Alexandre; César; Napoleão; Hitler; nenhum deles existe.
O homem fez que sim.
— Aquilo. — Apontou o Sr. Travis — é a selva de sessenta milhões dois mil e cinqüenta e cinco anos antes do presidente Keith.
Mostrou o caminho de metal que cruzava o verde selvagem, sobre um amplo pântano, por entre fetos e palmeiras.
E aquele — disse — é o Caminho, colocado por Safáris no Tempo, para seu uso. Flutua a seis polegadas acima da terra. Não toca senão no máximo uma grama, flor ou árvore. É um metal antigravitacional. Seu propósito é evitar que vocês toquem, de qualquer maneira que seja, este mundo do passado. Fiquem no Caminho. Não saiam dele. Repito. Não saiam. Por qualquer razão que seja! Se caírem, serão multados. E não disparem em nenhum animal que não aprovemos.
— Por quê? — perguntou Eckels.
Sentaram-se, na floresta antiga. Gritos distantes de pássaros vieram com o vento, e o cheiro de alcatrão e de um velho oceano salgado, grama úmida, e flores da cor de sangue.
— Não queremos mudar o Futuro. Não pertencemos ao Passado. O governo não gosta de nós aqui. Temos que pagar muita propina para garantir nossa licença. A Máquina do Tempo é um negócio extremamente delicado. Sem saber, poderíamos matar um animal importante, um pequeno pássaro, uma barata; mesmo uma flor, assim destruindo um elo importante, numa espécie em evolução.
— Isso não fica muito claro, — falou Eckels.
— Está bem — continuou Travis, — suponhamos que acidentalmente matemos um rato, aqui. Isso quer dizer que todos as futuras famílias deste rato, em particular, serão destruídas, certo?
— Certo.
— E todas as famílias das famílias, daquele rato! Com um pisão de seu pé, você aniquila primeiro um, então uma dúzia, então mil, um milhão, um bilhão de ratos, possivelmente!
— Então estarão mortos; e daí?
— E daí? — Travis torceu o nariz. — Bem, e as raposas que precisariam daqueles ratos para sobreviver? Para cada dez ratos a menos, morre uma raposa. Para cada dez raposas a menos, um leão morre de fome. Para cada leão a menos, insetos, abutres, infinitos bilhões de formas de vida são lançados ao caos e à destruição. Eventualmente, tudo recai no seguinte: cinqüenta e nove milhões de anos depois, um troglodita, um, de uma dúzia no mundo inteiro, vai caçar javalis ou tigres de dentes de sabre para comer. Mas você, amigo, pisou em todos os tigres daquela região. Pisando num só rato. Assim o troglodita morre de fome. E este homem das cavernas, note bem, não é qualquer um dispensável, não senhor! Ele é toda uma nação futura. Dele, teriam saído dez filhos. E destes, mais cem, e assim por diante, até a civilização. Destruindo este único homem, destrói-se uma raça, um povo, toda uma história. É comparável a matar um neto de Adão. O pisão de seu pé, num rato, poderia principiar um terremoto, cujos efeitos poderiam abalar nossa terra e destinos pelo Tempo afora, até seus alicerces. Com a morte daquele troglodita, um bilhão de outros ainda não nascidos são mortos no útero. Talvez Roma nunca se erga sobre suas sete colinas. Talvez a Europa fique para sempre uma floresta espessa, e apenas a Ásia cresça, forte e saudável. Pise num rato e esmagará as Pirâmides. Pise num rato e deixará sua marca, como um Grand Canyon, pela Eternidade. A rainha Elizabete poderá nunca nascer. Washington poderá não cruzar o Delaware, poderá nunca haver Estados Unidos. Portanto, seja cuidadoso. Fique no caminho. Nunca pise fora!
— Percebo — comentou Eckels. — Então não poderíamos nem tocar a grama?
— Exato. Esmagar certas plantas poderia causar somas infinitesimais. Um erro mínimo seria multiplicado por sessenta milhões de anos, desmesuradamente. Claro, talvez nossa teoria esteja errada. Talvez o Tempo não possa ser alterado por nós. Ou talvez só possa ser alterado de maneiras sutis. Um rato morto aqui causa um desequilíbrio dos insetos ali, uma desproporção populacional mais tarde, uma colheita má mais adiante, uma depressão, fome, e finalmente uma mudança no temperamento social em países remotos. Algo muito mais sutil, como isso. Talvez algo ainda muito mais sutil. Talvez apenas uma respiração, um sussurro, um cabelo, um pólen no ar, uma mudança tão levezinha que se olhasse atentamente, não notaria. Quem sabe? Quem pode dizer que realmente sabe? Não sabemos. Estamos só adivinhando. Mas até que tenhamos certeza, se nossos passeios pelo Tempo podem fazer um barulhão ou um barulhinho na História, seremos cuidadosos.. Esta Máquina, este Caminho, suas roupas e corpo, foram esterilizados, como sabem, antes da viagem. Usamos estes capacetes de oxigênio de modo que não possamos introduzir bactérias nesta atmosfera primitiva.
— Como sabemos que animais abater?
— Estão marcados com tinta vermelha — explicou Travis. — Hoje, antes da viagem, mandamos Lesperance aqui com a Máquina. Ele veio a esta época em particular e seguiu certos animais.
— Estudando-os?
— Isso — falou Lesperance. — Sigo-os por toda sua vida, observando quais vivem mais. Quantas vezes se acasalam. Poucas vezes. A sua vida é curta. Quando vejo que algum vai morrer com uma árvore caindo em cima dele, ou um que se afoga num poço de alcatrão, anoto a hora, minuto, e segundos exatos. Disparo um revólver de tinta. Deixa uma marca vermelha em seus flancos. Não podemos nos enganar. Então correlaciono com a chegada ao Caminho, de modo que encontremos o monstro a não mais de dois minutos de sua morte, inevitável. Desta forma, matamos apenas animais sem futuro, que nunca vão se acasalar de novo. Vê como somos cuidadosos?
— Mas se esta manhã você voltou no tempo, deve ter cruzado conosco mesmos, nosso safári! Como nos saímos? Tivemos sucesso? Conseguimos voltar todos... vivos?
Travis e Lesperance entreolharam-se.
— Isso seria um paradoxo, — falou este último. — O tempo não permite esse tipo de confusão; um homem encontrando a si mesmo. Quando há o risco de tais situações, o tempo desvia-se. Como um avião passando por um vácuo. Sentiu a Máquina pular antes de pararmos? Éramos nós passando por nós mesmos, a caminho do Futuro. Não vimos nada. Não há meio de dizer se esta expedição teve sucesso; se pegamos nosso monstro, ou se todos nós, isto é, o senhor, Sr. Eckels, saiu vivo.
Eckels sorriu, palidamente.
— Parem com essa conversa — interrompeu Travis. — Todos de pé!
Estavam prontos para deixar a Máquina.
A selva era alta, a selva era larga, e a selva era todo o mundo, para sempre. Sons como música, e sons como tendas voando, encheram o ar, e eram pterodátilos planando com cavernosas asas cinzentas, morcegos gigantescos de delírio e febre noturna. Eckels, equilibrado no estreito Caminho, apontou seu rifle, bem-humorado.
— Pare! — falou Travis. — Não aponte nem mesmo por brincadeira, idiota! Se a arma dispara...
Eckels enrubesceu. — Aonde está nosso Tyranossaurus?
Lesperance checou seu relógio de pulso. — Logo à frente. Vamos estar no caminho dele em sessenta segundos. Atenção para a tinta vermelha! Não atire até que eu mande. Fique no caminho. Fique no Caminho!
Moveram-se adiante, pelo vento da manhã.
Estranho — murmurou Eckels. — Lá adiante, daqui a sessenta milhões de anos, fim das eleições. Keith presidente. Todos celebrando. E aqui estamos, perdidos num milhão de anos, e eles não existem ainda. As coisas que nos preocuparam por meses, por uma vida inteira, nem nasceram nem foram idealizadas, ainda.
— Soltar as travas, todos! — ordenou Travis. Você dá o primeiro tiro, Eckels, Billings o segundo, e Kramer o terceiro.
— Já cacei tigre, javali, búfalo, elefante, mas agora, isto é incomparável — disse Eckels. — Estou tremendo como uma criança.
— Ah — fez Travis. Todos pararam.
Travis ergueu a mão. — À frente — falou, em voz baixa. — Na neblina. Lá está ele. Ali está Sua Majestade Real, agora.
A selva era ampla, e cheia de gorjeios, farfalhares, murmúrios e suspiros.
Subitamente, tudo cessou, como se alguém tivesse fechado a porta.
Silêncio.
Um som de trovão.
Da neblina, a cem jardas, vinha o Tyranossaurus rex.
— É ele — cochichou Eckels, — é ele... —Psss!
Ele veio sobre grandes pernas, oleosas, resilientes. Erguia-se a trinta pés, acima da metade das árvores, um grande deus do mal, dobrando suas delicadas garras de relojoeiro perto de seu peito oleoso, reptílico. Cada pata inferior era um pistão, mil libras de osso branco, mergulhadas em grossas cordas de músculos, revestidas por um brilho de uma pele pedregosa, como a malha de um terrível guerreiro. Cada coxa, uma tonelada de carne, marfim, e aço trançado. E da grande gaiola arquejante da parte superior do corpo, aqueles dois braços delicados pendurados para a frente, braços que poderiam erguer e examinar os homens como brinquedos, enquanto se dobrava o pescoço de serpente. E a cabeça mesmo, uma tonelada de pedra esculpida, erguida com facilidade contra o céu. Sua boca escancarava-se, expondo uma cerca de dentes como dardos. Seus olhos rolavam, ovos de avestruz, vazios de qualquer expressão, exceto fome. Fechava a boca num sorriso da morte. Corria, seus ossos pélvicos derrubando para os lados árvores e arbustos, seus pés, com garras, afundando-se na terra úmida, deixando marcas de seis polegadas de profundidade aonde quer que apoiasse seu peso. Corria com um passo deslizante de ballet, muito aprumado e equilibrado para suas dez toneladas. Movia-se, cansado, numa arena ensolarada, suas mãos lindamente reptilianas tateando o ar.
— Ora, vejam — Eckels torceu a boca. — Poderia esticar-se e pegar a lua.
— Pssst! — fez Travis, nervoso. — Ele ainda não nos viu.
— Não pode ser morto. — Eckels pronunciou seu veredito, quieto, como se não pudesse haver discussão. Tinha avaliado a evidência, e era esta sua abalizada opinião. O rifle em sua mão parecia uma arma de brinquedo. — Fomos loucos de ter vindo. Isto é impossível.
— Cale-se! — silvou Travis.
— Pesadelo.
— Dê meia volta — comandou Travis. — Vá em silêncio para a Máquina. Podemos reembolsar-lhe metade de sua passagem.
— Não percebia como seria grande, — falou Eckels. — Avaliei mal, foi isso. E agora, quero desistir.
— Ele nos viu!
Lá está a tinta vermelha em seu peito!
O Lagarto Tirano levantou-se. Sua carne de armadura rebrilhava como mil moedas verdes. As moedas, com uma crosta de lama, ferviam. No lodo, pequenos insetos esperneavam, de modo que todo o corpo parecia retorcer-se e ondular, mesmo enquanto o monstro não se movia. Expirou. O cheiro de carne crua foi soprado pelos ermos.
— Deixe-me sair daqui — disse Eckels. — Nunca foi como isto, agora. Eu sempre estava certo de que poderia sair vivo. Eu tinha bons guias, bons safáris, e segurança. Desta vez, enganei-me. Encontrei algo que me supera, e reconheço. É demais para eu enfrentar.
— Não corra — falou Lesperance. — Dê a volta. Esconda-se na Máquina.
— Sim, — Eckels parecia entorpecido. Olhou para seus pés, como que tentando fazê-los mover-se. Deu um grunhido, incapaz.
— Eckels!
Deu alguns passos, piscando, hesitante,
— Não por aí!
O Monstro, ao primeiro movimento, impulsionou-se para a frente com um grito terrível. Cobriu cem jardas em seis segundos. Os rifles ergueram-se rapidamente e iluminaram-se, com o fogo. Um vendaval da boca da besta engolfou-os na fedentina do lodo, e sangue envelhecido. O Monstro rugiu, dentes brilhando ao sol.
Eckels, sem olhar para trás, caminhou cegamente para a borda do Caminho, sua arma carregada frouxamente em seus braços, saiu do caminho, e andou, inadvertidamente, pela floresta. Seus pés afundaram em musgo verde. Suas pernas o carregavam, e ele se sentia só e afastado dos eventos lá atrás.
Os rifles dispararam de novo. O som perdeu-se no grito e no trovão do lagarto. O grande volume da cauda do animal lançou-se para cima, e para o lado. Árvores explodiram em nuvens de folhas e ramos. O Monstro torceu suas mãos de joalheiro para acariciar os homens, para dobrá-los ao meio, para esmagá-los, como frutinhas, para empurrá-los para seus dentes e sua garganta ruidosa. Seus olhos, quais rochedos, estavam ao nível dos homens. Viram-se espelhados. Dispararam nas pálpebras metálicas e na luminosa íris.
Como um ídolo de pedra, como uma avalanche de montanha, o Tyranossaurus caiu. Trovejando, agarrou árvores, e puxou-as consigo. Agarrou e cortou o Caminho. Os homens precipitaram-se para trás, e para longe. O corpo abateu-se, dez toneladas de carne fria e pedra. Os rifles dispararam. O Monstro brandiu sua cauda blindada, crispou suas mandíbulas de serpente, e imobilizou-se. Uma fonte de sangue jorrava de sua garganta. Em algum lugar lá dentro, um saco de fluido estourou. Borbotões nauseantes inundaram os caçadores. Lá estavam vermelhos, brilhantes.
O trovão dissipou-se.
A selva estava silenciosa. Depois da avalanche, uma paz verde. Depois do pesadelo, o amanhecer.
Billings e Kramer praguejavam pesadamente, com seus rifles ainda fumegando.
Na Máquina do Tempo, face abatida, Eckels tremia. Tinha conseguido voltar ao caminho, e subira na Máquina.
Travis chegou, olhou para Eckels, pegou gaze de algodão e, virou-se para os outros, que estavam sentados sobre o Caminho.
— Limpem-se.
Limparam o sangue de seus capacetes. Começaram a resmungar, também. O Monstro jazia ali como uma montanha de carne. Dentro dele, podia-se ouvir os sopros e murmúrios, enquanto seus recessos iam morrendo, os órgãos parando de funcionar, líquidos circulan do um último instante, de saco para a bolsa, para vesícula, tudo desligando-se, parando para sempre. Era como ficar perto de uma locomotiva acidentada, ou uma escavadeira a vapor, no momento de desligar, com todas as válvulas sendo desativadas. Ossos estalavam; a tonelagem de sua própria carne, desequilibrada, peso morto, quebrava os delicados braços, do lado de baixo. A carne se assentava aos tremores.
Outro estalido. Mais acima, um enorme galho de árvore partiu de sua pesada ancoragem, caiu. Golpeou certeiramente a fera morta.
— Pronto. — Lesperance verificou seu relógio. — Bem na hora. Essa era a grande árvore que deveria cair e matar este animal, originalmente. — Olhou para os dois caçadores. — Querem tirar a foto de troféu?
— Quê?
— Não podemos levar o troféu para o Futuro. O corpo deve ficar aqui, aonde deveria originalmente morrer, de modo que os insetos, pássaros, e bactérias possam devorá-lo, como devem. Tudo equilibrado. O corpo fica. Mas podemos tirar uma fotografia de vocês a seu lado.
Os dois homens fizeram força para pensar, mas desistiram, abanando as cabeças.
Deixaram-se guiar ao longo do Caminho de metal. Afundaram cansados, nos assentos da Máquina. Olharam de novo para o Monstro arruinado, o montículo em estagnação, aonde já estranhos pássaros reptilianos e insetos dourados estavam ocupados com a fumegante armadura.
Um som no chão da Máquina do Tempo deixou-os tensos. Eckels estava lá, tremendo.
— Lamento muitíssimo — disse.
— Levante-se! — gritou Travis. Eckels levantou-se.
— Vá para o Caminho sozinho — falou Travis, com seu rifle apontado. Não vai voltar para a Máquina. Vamos deixá-lo aqui!
Lesperance agarrou o braço de Travis. — Espere...
— Fique fora disto! — Travis desvencilhou-se de sua mão. — Este louco quase matou-nos. Mas isso não é tanto assim. Vejam seus sapatos! Vejam! Ele saiu do Caminho. Isso nos arruína! Seremos multados! Milhares de dólares de seguro! Garantimos que ninguém deixa o Caminho, e ele o deixou. Ora, o louco! Terei de informar o Governo
Poderão cancelar nossa licença para viajar. Quem sabe o que ele fez ao Tempo, à História!
— Calma, tudo o que ele fez foi pisar em alguma sujeira.
— Como saber? — gritou Travis. — Não sabemos nada! É um mistério! Saia, Eckels!
Eckels mexeu em sua camisa. — Pago qualquer coisa. Mil dólares!
Travis olhou para o talão de cheques de Eckels e cuspiu. — Saia. O Monstro está perto do Caminho. Afunde os braços até os cotovelos na boca dele. Então poderá voltar conosco.
— Isto é irrazoável!
— O Monstro está morto, seu idiota. As balas! As balas não podem ser deixadas para trás. Elas não pertencem ao Passado; poderão mudar alguma coisa. Aqui está a minha faca. Cave-as!
A selva estava viva de novo, cheia de antigos tremores e do barulho dos pássaros. Eckels voltou-se lentamente para olhar o monte de carniça primordial, aquela montanha de pesadelos e terror. Depois de um longo tempo, como um sonâmbulo, arrastou-se ao longo do Caminho.
Voltou, tremendo, cinco minutos depois, com seus braços ensopados e vermelhos até os cotovelos. Estendeu as mãos. Cada uma segurava algumas balas de aço. Então caiu e ficou lá, imóvel.
— Você não precisava obrigá-lo a isso — comentou Lesperance.
— Não? É cedo ainda para dizer. — Travis tocou o corpo, com o pé. — Viverá. Da próxima vez não vai sair para caçar este tipo de caça. OK. — Ergueu o polegar para Lesperance. — Dê a partida. Vamos para casa.
1492 . 1776 . 1812 .
Limparam suas mãos e faces. Trocaram de roupa. Eckels estava de pé de novo, mudo. Travis olhou para ele por dez minutos.
— Não olhe para mim, — exclamou Eckels. — Não fiz nada.
— Quem pode saber?
— Apenas saí do Caminho, foi tudo, um pouco de lama em meus sapatos; que quer que eu faça? Que me ajoelhe e reze?
— Talvez precisemos disso. Estou lhe avisando, Eckels! Posso matá-lo, ainda. Minha arma está engatilhada.
— Estou inocente. Não fiz nada! 1999 . 2000 . 2055 .
A Máquina parou.
— Saia — ordenou Travis.
A sala lá estava, tal como quando saíram. Mas não exatamente a mesma. O mesmo homem atrás da mesma escrivaninha. Mas o mesmo homem não parecia estar sentado exatamente atrás da mesma escrivaninha.
Travis olhou em volta, depressa. — Tudo em ordem por aqui? — foi logo perguntando.
— Claro. Bem vindos ao lar!
Travis não relaxou. Parecia estar olhando para os próprios átomos do ar, e para o modo pelo qual o sol entrava pela janela alta.
— OK, Eckels, saia. E nunca mais volte. Eckels não podia mover-se.
— Ouviu-me, — falou Travis. — Para o quê está olhando? Eckels ficou, cheirando o ar, e havia algo no ar, uma substância tão tênue, tão sutil, que apenas um fraco aviso de seus sentidos subliminares avisavam-lhe que estava ali. As cores, branco, cinza, azul, laranja, na parede, na mobília, no céu, pela janela, eram... eram... E havia uma sensação. Sua carne crispava-se. Ficou bebendo aquela estranheza com os poros de seu corpo. Em algum lugar, alguém devia estar soprando naqueles apitos que só os cães podem ouvir. Seu corpo gritava silenciosamente, em resposta. Além deste aposento, além desta parede, além deste homem, que não era exatamente o mesmo homem que estava sentado àquela mesa, que não era bem a mesma mesa... estava todo um mundo de ruas e gente. Que espécie de mundo era agora, não havia como dizer. Ele podia senti-los mover-se ali, além das paredes, quase, como peças de xadrez por um vento quente...
Mas a coisa mais imediata era o anúncio pintado na parede do escritório, o mesmo que havia lido hoje ao entrar. De alguma forma, o anúncio havia mudado:
SEFARIS NU TENPO, INC.
SEFARIS PRA QUALQUER ANO PAÇADO.
CÊ DIS QUI ANIMAU.
NÔIS LEVAMOS CÊ LÃ.
CÊOABAT.
Eckels sentiu-se caindo numa cadeira. Ficou mexendo, como louco, na lama em suas botas. Ergueu um pedaço de algo enlameado, tremendo. — Não, não pode ser, não uma coisinha assim, não!
Embebida na lama, brilhando em verde e dourado e preto, havia uma borboleta, muito bela, e muito morta.
Não uma coisa assim! Não uma borboleta! — gritou Eckels.
Caiu ao chão, uma coisa exótica, pequena, que poderia desmanchar equilíbrios e derrubar uma fila de dominós pequenos, e então grandes dominós, e então dominós gigantes, por todos os anos através do Tempo. A mente de Eckels turbilhonava. Não podia mudar as coisas. Matar uma borboleta não podia ser tão importante! Ou poderia?
Seu rosto estava frio. Sua boca hesitava, ao perguntar: — Quem... quem ganhou a eleição presidencial ontem?
O homem atrás da escrivaninha riu-se. — Está brincando? Sabe muito bem. Deutscher, claro! Quem mais? Não aquele maluco pusilânime do Keith. Temos um homem de ferro, agora, um homem de peito! — O funcionário parou. — O que há de errado?
Eckels gemeu. Caiu de joelhos. Examinava a borboleta dourada com dedos trêmulos. — Não podemos — implorava ao mundo, a si mesmo, aos funcionários, à Máquina. — Não podemos levá-la de volta, não podemos fazê-la viver de novo? Não podemos recomeçar? Não poderíamos...
Não se moveu. Olhos fechados, esperou, abalado. Ouviu Travis ofegando, na sala; ouviu Travis apontar o rifle, destravá-lo.
Houve um som de trovão.
A chuva continuava. Era uma chuva pesada, uma chuva perpétua, suarenta e cheia de vapor; uma catadupa, uma tromba d'água, uma fonte, um chicotear os olhos, uma ressaca, à altura dos tornozelos; era uma chuva de afogar todas as chuvas, e a memória das chuvas. Vinha às libras, e às toneladas, destroçava a floresta e abatia as árvores como tesoura, e podava a grama e abria túneis pelo chão e derretia os arbustos. Reduzia as mãos dos homens a mãos encarquilhadas de macacos; caía uma chuva vítrea e sólida, e não parava nunca.
— Quanto falta ainda, tenente?
— Não sei. Uma milha, dez milhas, mil.
— Não está certo?
— Como posso estar certo?
— Não gosto desta chuva. Se pelo menos soubéssemos a que distância está o Domo Solar, eu me sentiria melhor.
— Mais uma hora ou duas, a partir daqui.
— Mesmo, tenente?
— Claro.
— Ou você está mentindo só para nos animar?
— Estou tentando animá-los. E cale a boca!
Os dois homens sentaram-se sob a chuva. Atrás deles, mais dois outros, molhados e cansados, que deixaram-se cair como argila, que se derretia.
O tenente ergueu o olhar. Tinha um rosto que já tinha sido moreno, mas que a chuva tornara pálido, e a chuva tinha lavado a cor de seus olhos, e estavam brancos, como seus dentes, como seu cabelo. Estava todo branco. Mesmo seu uniforme estava começando a embranquecer, e talvez, meio verde, com os fungos.
O tenente sentia a chuva em suas faces. — Há quantos milhões de anos foi a última estiagem, aqui em Vênus?
— Não seja tolo — falou um dos outros dois. — Nunca pára de chover em Vênus. Apenas continua, sempre e sempre. Vivi aqui por dez anos e nunca vi um minuto, nem mesmo um segundo em que não chovesse.
— É como viver sob a água — falou o tenente, e ergueu-se pondo as armas no lugar. — Bem, é melhor ir andando. Ainda vamos achar aquele Domo Solar.
— Ou não o encontraremos — acrescentou o cínico.
— Mais uma hora, mais ou menos.
— Agora está mentindo para mim, tenente.
— Agora, estou mentindo para mim mesmo. Esta é uma daquelas ocasiões em que é necessário mentir. Não posso agüentar isto por muito mais tempo.
Foram pela trilha, na selva, ocasionalmente consultando suas bússolas. Não havia direção a seguir, apenas o que a bússola dizia. Havia um céu cinzento e a chuva caindo, e um caminho, e muito longe, atrás deles, em algum lugar, um foguete em que eles estiveram e que caíra. Um foguete em que ficaram dois de seus amigos, mortos, pingando, sob a chuva.
Andavam em fila indiana, sem falar. Chegaram a um rio amplo, e tranqüilo, e marrom, que escoava para o grande Mar Único. Sua superfície estava pontilhada em um bilhão de lugares, pela chuva.
— Está bem, Simmons.
O tenente fez sinal com a cabeça, e Simmons pegou um pequeno volume de suas costas que, com a pressão de uma substancia química oculta, inflou-se num grande bote. O tenente dirigiu o corte da madeira e a construção rápida de jangadas, e saíram pelo rio, remando depressa pela superfície plana, em meio à chuva.
O tenente sentiu a fria chuva em seu rosto e em seu pescoço e em seus braços, em movimento. 0 frio estava começando a esgueirar-se para dentro de seus pulmões. Sentia a chuva em suas orelhas, em seus olhos, em suas pernas.
— Não dormi, a noite passada — falou.
— Quem poderia? Quem dormiu? Quando? Quantas noites dormimos? Trinta noites, trinta dias! Quem pode dormir com a chuva martelando a cabeça, golpeando continuamente... eu daria qualquer coisa por um chapéu. Qualquer coisa, que não deixe que ela fique batendo na minha cabeça. Fico com dor de cabeça. Minha cabeça dói; dói todo o tempo.
Estou arrependido de ter vindo para a China — falou um dos outros.
— É a primeira vez que ouço chamarem Vênus de China.
— Claro, China. Cura chinesa pela água. Lembra-se da velha tortura? Você fica amarrado num poste. Uma gota de água em sua cabeça a cada meia hora. Você enlouquece, esperando pela próxima gota. Bem, Vênus é assim, mas em grande escala. Não fomos feitos para água. Não pode respirar, não pode dormir, e enlouquece só por estar molhado. Se estivéssemos bem equipados para um pouso de emergência, teríamos trazido chapéus, e uniformes à prova d'água. É esta chuva batendo na nossa cabeça que enlouquece. É tão pesada. É como chumbo miúdo. Não sei quanto tempo ainda vou agüentar.
— Rapaz, não vejo a hora de chegar ao Domo Solar! O homem que os inventou, realmente fez uma grande coisa.
Cruzaram o rio, e ao cruzá-lo, pensavam no Domo Solar, em algum ponto à sua frente, brilhando, na chuva da selva. Uma casa amarela, redonda e luminosa como o Sol. Uma casa de quarenta pés de altura, e cem pés de diâmetro, onde havia calor, e silêncio, e comida quente, e nada de chuva. E no centro do Domo Solar, claro, um sol. Um pequeno globo flutuando livremente, de fogo amarelo, boiando num espaço na parte superior da construção, onde você podia olhar para ele, sentado, fumando ou lendo um livro, ou bebendo seu chocolate quente, com marshmallow, ou bebendo alguma outra coisa. Lá estaria ele, o sol amarelo, do tamanho do sol da Terra, e era quente e permanente, e o mundo chuvoso de Vênus estaria esquecido, enquanto se ficasse lá dentro, com todo o tempo do mundo.
O tenente voltou-se e olhou para os três homens, usando seus remos, dentes cerrados. Estavam tão brancos como cogumelos, tão brancos quanto ele estava. Vênus desbotava tudo em poucos meses. Mesmo a selva era um imenso "cartoon" de pesadelo, pois como poderia a selva ser verde, sem sol, com a chuva sempre caindo, sempre na penumbra? A selva branca, branca, com suas folhas pálidas, cor-de-queijo, e a terra escavada em Camembert molhado, e os troncos das árvores, como imensos fungos — tudo preto e branco. E quantas vezes se podia ver o solo? Era quase sempre um riacho, uma correnteza, uma poça, uma lagoa, um lago, e então, finalmente, o mar?
— Chegamos.
Pularam na margem mais afastada, erguendo a água, em espuma. O bote foi desinflado e armazenado numa caixa de charutos. Então na margem chuvosa, tentaram acender alguns cigarros, e só uns cinco minutos depois, tremendo de frio, inverteram o acendedor, e com as mãos protegendo, conseguiram algumas baforadas de cigarro, que logo se molhou e foi arrancado de seus lábios por uma pancada de chuva mais forte.
Continuaram andando.
— Esperem um momento — interrompeu o tenente. — Acho que vi alguma coisa ali adiante.
— O Domo Solar?
— Não estou certo. A chuva ficou mais intensa, ali.
— Simmons começou a correr. — O Domo Solar!
— Volte, Simmons!
— O Domo Solar!
Simmons desapareceu na chuva. Os outros correram atrás dele.
Encontraram-no numa pequena clareira, e pararam, olharam para ele e para o que tinha descoberto.
O foguete.
Estava exatamente onde o haviam deixado. De alguma forma tinham andado em círculo e voltaram ao ponto de partida. Nas ruínas da nave, fungos verdes cresciam pela boca afora dos dois homens mortos. Enquanto olhavam, o fungo floresceu, as pétalas quebraram-se sob a chuva, e o fungo morreu.
— Como pudemos fazer isso?
— Deve haver uma tempestade elétrica por perto. Desviou nossas bússolas. Isso explicaria.
— Está certo.
— Que faremos agora?
— Recomeçar.
— Meu Deus, não estamos mais perto de lugar algum!
— Vamos tentar manter a calma, Simmons.
— Calma, calma! Esta chuva está me enlouquecendo!
— Temos comida ainda para mais dois dias, se formos cuidadosos.
A chuva dançava por suas peles, sobre seus uniformes molhados; a chuva escorria por seus narizes e orelhas, de seus dedos e joelhos. Pareciam fontes de pedra, congelados, na selva, jorrando água por todos os poros.
E, enquanto lá estavam, ao longe escutaram um rugido.
E o monstro apareceu da chuva.
O monstro era suportado por mil pernas de um azul de eletricidade. Andava depressa e terrivelmente. Sua passadas golpeavam fortemente o chão. Por todos os lugares atingidos por uma perna, uma árvore caía, e queimava. Grandes quantidades de ozônio enchiam o ar úmido, a fumaça era soprada e dissipada pela chuva. O monstro tinha meia milha de largura, e caía pelo chão como uma grande coisa cega. Por vezes, momentaneamente, não apareciam as pernas. E então, num instante, mil chicotes caíam de seu ventre, chicotes branco-azulados, para açoitar a selva.
— Lá está a tempestade elétrica — disse um dos homens. — Aí está a coisa que estragou nossas bússolas. E vem nesta direção.
— Deitem-se, todos — ordenou o tenente.
— Corram! — gritou Simmons.
— Não seja louco. Deite-se. Ele atinge só os pontos mais altos. Poderemos não ser atingidos, assim. Fique deitado a cinqüenta pés do foguete. Poderá muito bem despender suas forças ali e deixar-nos em paz. Abaixe!
Os homens mergulharam.
— Vem vindo? — perguntavam entre si, após alguns instantes.
— Chegando.
— Mais perto?
— Duzentas jardas.
— E agora? —Aí está!
O monstro veio e pôs-se sobre eles. Deixou cair dez relâmpagos azuis, que destruíram o foguete. Este rebrilhou como um gongo, que se bate e emitiu um som metálico. O monstro deixou cair mais quinze relâmpagos, que dançaram ao redor, numa ridícula pantomima, tateando a selva e o solo agudo.
— Não, não! — Um dos homens pulou de pé.
— Abaixe-se, seu idiota! — falou o tenente. —Não!
O relâmpago atingiu o foguete mais uma dúzia de vezes. O tenente escondeu a cabeça com o braço, e viu os lampejos azuis ofuscantes. Viu árvores sendo partidas e desabar, arruinadas. Viu a monstruosa nuvem escura como um disco, acima, emitindo para baixo mais cem hastes eletrificadas.
O homem que se erguera, estava agora correndo, como alguém numa grande sala de pilares. Corria e se desviava dos pilares, e então, por fim, uns doze pilares caíram, e ouviu-se o som que faz uma mosca quando desce sobre a grelha de um exterminador. O tenente lembrou-se disto, de sua infância, numa fazenda. E havia o cheiro de um homem transformado em cinzas.
O tenente abaixou a cabeça. — Não olhem para cima — disse aos outros. Ele também tinha medo de querer sair correndo a qualquer momento.
A tempestade acima deles desferiu mais uma série de raios, e então passou adiante. Mais uma vez havia apenas a chuva, que rapidamente limpou o ar do cheiro de queimado, e logo os homens remanescentes estavam sentados, esperando que seus corações desacelerassem.
Aproximaram-se do corpo, pensando que talvez ainda pudessem salvar a vida do homem. Não queriam acreditar que não havia meio de ajudá-lo, agora. Era o ato natural de homens que nunca haviam aceito a morte, até que a tocaram, e fizeram planos para enterrá-lo, ou seria melhor deixá-lo ali, para que a selva o enterrasse, em uma hora de crescimento desenfreado.
O corpo era aço retorcido, envolvido em couro calcinado. Parecia um boneco de cera lançado a um incinerador, e tirado quando a cera tivesse mergulhado pelo esqueleto de carvão. Apenas os dentes estavam brancos, e brilhavam como um estranho bracelete branco, pela metade, num punho negro fechado.
— Ele não deveria ter pulado. — Disseram todos quase em uníssono.
Ainda quando contemplavam o corpo, começou a desaparecer, pois a vegetação estava subindo por ele, pequenas trepadeiras e rastejantes, e mesmo flores para o defunto.
A alguma distância, a tempestade se afastava em lampejos azuis, de relâmpagos, e foi-se.
Cruzaram um rio e um riacho, e uma corredeira e uma dúzia de outros rios, e riachos e correntes. Ante seus olhos, apareciam os rios, correndo, novos rios, enquanto que os velhos rios mudavam seus cursos — rios de cor de mercúrio, rios de cor do leite, e da prata.
Chegaram ao mar.
O Mar Único. Havia um só continente em Vênus. Esta terra tinha umas três mil milhas de comprimento por mil milhas de largura, e em torno desta ilha estava o Mar Único, que se esparramava sobre a praia pálida, com pouco movimento...
— Por aqui. — O tenente apontou para o sul. — Estou certo que há dois Domos Solares por esta direção.
— Quando começaram a construí-los, não fizeram uma centena ou mais?
— Cento e vinte e seis, no mês passado. Tentaram fazer passar uma verba no Congresso, no ano passado, para construir mais uma dúzia, mas, não, você sabe como é. Eles preferem que alguns homens enlouqueçam com a chuva.
Começaram a se dirigir para o sul.
O tenente e Simmons e o terceiro homem, Pickard, caminhavam pela chuva que caía ora pesada ora leve, ora pesada ora leve; na chuva que se despejava e martelava e não cessava de cair sobre a terra, e o mar, e sobre os homens, caminhando.
Simmons viu primeiro. — Lá está!
— Lá está o quê?
— O Domo Solar!
O tenente piscou, com a água em seus olhos, e ergueu a mão para afastar os golpes de agulha da chuva.
A uma distância, lá estava o brilho amarelo na orla da floresta. Era, de fato, o Domo Solar.
Os homens sorriram, uns para os outros.
— Parece que você estava certo, tenente.
— Sorte.
— Mano, isso me dá novas forças, apenas vendo-o. Vamos! — Simmons começou a trotar. Os outros automaticamente o acompanharam, ofegantes, exaustos, mas mantendo o passo.
— Um grande pote de café, para mim! — dizia Simmons, entrecortadamente, sorrindo. E uma panela de bolinhos de canela. Rapaz! E só ficar ali, deixando o velho sol por cima. O cara que inventou os Domos Solares, deveria ter ganho uma medalha!
Correram mais depressa. O brilho amarelo intensificou-se.
— Acho que muitos homens enlouqueceram antes de perceberem a cura. É óbvio! Bem na cara . — Simmons cuspia a palavra na cadência de sua corrida. — Chuva! Chuva! Anos atrás. Encontrei um amigo. Meu. Na floresta. Andando. Na chuva. Dizendo sempre "Não sei, entrar, sair, da chuva. Não sei..." de novo, e de novo. Desse jeito mesmo. Pobre diabo louco.
— Poupe o fôlego! Correram.
Todos riam. Chegaram à porta do Domo Solar, rindo.
Simmons escancarou a porta. — Ei! — gritou. — Tragam o café!
Não houve resposta.
Entraram pela porta.
O Domo Solar estava vazio e escuro. Não havia sol sintético amarelo flutuando num sussurro gasoso agudo no centro do teto azul. Não havia comida, esperando. Estava frio como um cofre. E através de mil orifícios, recentemente abertos no teto, a água escorria, a chuva caía ensopando os tapetes espessos e a mobília moderna, pesada, e formando poças nas mesas de vidro. A selva estava crescendo, sob a forma de musgo, pela sala, sobre as estantes e divãs. A chuva desabava pelos furos e vinha dar no rosto dos três homens.
Pickard começou a rir, baixinho.
— Cale-se Pickard!
— Pelos deuses, vejam o que há aqui, para nós; nem comida, nem sol, nada. Os venusianos! Eles fizeram isso! Claro!
Simmons concordou, com a chuva afunilando-se sobre sua fronte. A água escorria por seu cabelo prateado e sobre suas sobrancelhas brancas. — De vez em quando os venusianos saem do mar e atacam um Domo Solar. Sabem que se acabarem com os Domos Solares, podem nos arruinar.
— Mas os Domos Solares não são protegidos com armas?
— Claro. — Simmons ia para o lado, num lugar que estava relativamente seco. — Mas há cinco anos que os venusianos não tentavam nada. A defesa relaxou. Pegaram este Domo de surpresa.
— Onde estão os corpos?
— Os venusianos os levaram para o mar. Ouvi dizer que eles têm uma maneira deliciosa de afogar as pessoas. Leva oito horas, do jeito que fazem. Realmente, delicioso.
— Aposto que não há comida nenhuma, por aqui. — Pickard riu-se.
O tenente olhou para ele, e apontou-o com o queixo, para Simmons. Simmons compreendeu e foi para um compartimento a um lado da câmara oval. Na cozinha, pães ensopados, e carne, com uma camada esverdeada sobre ela. A chuva vinha por cem furos no teto.
— Brilhante. — O tenente olhou para os buracos. — Vejo que a máquina do sol está desmantelada. O melhor que temos a fazer é pôr-nos a caminho para o próximo Domo Solar. A que distância está?
— Não muito. Tanto quanto me lembro, construíram dois bem próximos, aqui. Talvez se esperássemos, uma missão de socorro do outro poderia...
— Talvez já esteve aqui, e se foi, há alguns dias. Vão mandar alguns homens para reparar este lugar, em cerca de seis meses, quando tiverem o dinheiro do Congresso. Não acho que é melhor esperar.
— Está bem, então. Comeremos o que nos resta de nossas rações, e continuaremos até o próximo Domo.
Pickard falou: — Se ao menos a chuva não ficasse batendo na minha cabeça, apenas por alguns minutos. Se eu ao menos pudesse me lembrar do que é não ser perturbado. — Pôs as mãos sobre a cabeça, e segurou-as firme. — Lembro-me que. quando estava na escola, um valentão costumava sentar-se atrás de mim, é beliscar-me sempre, a cada cinco minutos, todo o dia. Fazia isto por semanas, e meses. Meus braços ficavam machucados, e pretos e azuis, todo o tempo. E eu pensava que enlouqueceria, de tanto ser beliscado. Um dia fiquei meio louco da vida de ser tão agredido, virei-me e peguei um esquadro de metal, que usava para desenho e quase cortei-lhe aquela cabeça nojenta. Quase o escalpelei, quando acabaram me arrastando para fora da sala, e eu ficava berrando "Por que ele não me deixa em paz? Por que ele não me deixa em paz?" Suas mãos agarravam os ossos de sua cabeça, tremendo, apertando, olhos fechados. — Mas o que posso fazer agora? A quem vou surrar, a quem digo para cair fora, para parar de me incomodar, esta maldita chuva, como os beliscões, sempre em cima, é tudo o que se ouve, tudo o que se sente!
— Estaremos no outro Domo Solar, às quatro, desta tarde.
— Domo Solar? Olhe só para este! E se todos os Domos Solares de Vênus estiverem assim? E então? E se houver buracos em todos os tetos, e a chuva entrando!
— Precisamos arriscar.
— Estou cansado de arriscar. Tudo o que quero é um teto, e um pouco de sossego. Quero ficar sozinho.
— São apenas oito horas, se agüentar.
— Não se preocupe, agüentarei direito. — E Pickard riu-se, sem olhar para eles.
— Vamos comer — falou Simmons, olhando para ele.
Foram pela costa abaixo, para o sul. Depois de quatro horas, tiveram que se afastar da praia para franquear um rio que tinha uma milha de largura, e tão rápido que não seria navegável com o bote. Tiveram que andar seis milhas até um ponto em que o rio emergia da terra, como uma ferida mortal. Na chuva, andaram sobre a terra firme e retornaram ao mar.
— Preciso dormir — falou Pickard. Tropeçou. — Não durmo há quatro semanas. Cansado, mas não conseguia. Vou dormir aqui.
O céu estava escurecendo. A noite de Vênus se aproximava, e era tão completamente escura que era perigoso caminhar. Simmons e o tenente caíram de joelhos também, e o tenente falou, — Está bem, veremos o que se pode fazer. Já tentamos antes, mas não sei. Dormir parece não ser uma das coisas que se pode fazer, com este clima.
Deitaram-se, apoiando as cabeças de modo que a água não entrasse por suas cabeças, e fecharam os olhos.
O tenente remexia-se.
Não dormiu.
Havia coisas que rastejavam por sua pele. Coisas cresciam sobre eles, em camadas. Gotas caíam e tocavam outras gotas, e tornavam-se fios que desciam por seu corpo, e enquanto desciam, as plantinhas da floresta enraizavam-se em sua roupa. Sentiu o verde aderindo e formando uma segunda roupa sobre ele; sentia as florinhas brotarem e desabrocharem, e a chuva sapateava em seu corpo, e em sua cabeça. Na noite luminosa; pois a vegetação brilhava, no escuro; ele via os vultos dos outros dois homens, como troncos caídos recobertos de um tapete de grama e flores. A chuva chicoteava seu rosto. Cobriu-o com as mãos. A chuva batia em seu pescoço. Voltou-se de bruços, na lama, sobre as plantas borrachentas, e a chuva castigava suas costas, bem como suas pernas.
De repente, pulou de pé e começou a tentar afastar a água de seu corpo, passando a mão por ele. Mil mãozinhas o tocavam e ele não mais queria ser tocado. Não tolerava mais ser tocado. Vacilou e tropeçou em algo, e percebeu que era Simmons, de pé, na chuva, respirando água e tossindo e engasgando. E então Pickard ergueu-se, gritando, e saiu correndo.
— Espere, Pickard!
— Chega! Chega! — gritava Pickard. Disparou sua arma seis vezes contra o céu noturno. Aos lampejos, puderam ver exércitos de gotas de chuva, suspenso como num vasto âmbar imóvel, por um átimo, hesitando como se chocadas pela explosão, quinze bilhões de gotículas, quinze bilhões de lágrimas, quinze bilhões de ornamentos, jóias contra um painel de veludo branco. E então, com a luz desaparecendo, as gotas que tinham esperado para que tirassem sua fotografia, que haviam suspendido sua carreira para baixo, caíram sobre eles, picando, numa nuvem de insetos, de frio e dor.
— Chega! Chega!
— Pickard!
Mas Pickard estava apenas de pé, agora, só. Quando o tenente acendeu uma pequena lanterna e dirigiu-a para o rosto molhado de Pickard, os olhos do homem estavam dilatados, e sua boca estava aberta, rosto para cima,,de modo que a água atingia e inundava sua língua, e afogava os olhos arregalados, e borbulhava numa espuma sussurrante pelas narinas.
— Pickard!
O homem não respondia. Simplesmente ficava ali, demoradamente, com as bolhas de chuva explodindo em seu cabelo esbranquiçado, e cadeias de jóias de chuva, pingando de seus pulsos e pescoço.
— Pickard! Vamos embora. Estamos indo. Siga-nos. A chuva pingava das orelhas de Pickard.
— Está me ouvindo, Pickard!
Era como gritar para dentro de um poço.
— Pickard!
— Deixe-o — disse Simmons.
— Não podemos continuar sem ele.
— Que vamos fazer, carregá-lo? — Simmons cuspiu. — Não serve de nada para nós, nem para ele. Sabe o que ele vai fazer? Vai simplesmente ficar aí, e afogar-se.
— O quê?
— Já deveria conhecer isso. Não conhece a história? Vai ficar aí com a cabeça para cima e deixar a chuva entrar por suas narinas e sua boca. Vai respirar a água.
— Não.
— Foi assim que encontraram o general Mendt, daquela vez. Sentado numa pedra com a cabeça para trás, respirando a chuva. Seus pulmões estavam cheios de água.
O tenente voltou a luz para a face imóvel. As narinas de Pickard emitiam um fraco som sussurrante, molhado.
— Pickard! — o tenente esbofeteou-o.
— Ele não pode sentir, sequer — falou Simmons — alguns dias nesta chuva, e você não tem mais nem mesmo rosto, ou pernas ou mãos.
O tenente olhou para sua própria mão, aterrorizado. Não podia senti-la mais.
— Mas não podemos deixar Pickard aqui.
— Vou mostrar-lhe o que podemos fazer. — Simmons disparou sua arma.
Pickard caiu na terra encharcada.
Simmons falou, — Não se mova, tenente. Tenho minha arma pronta para você, também. Pense: ele só iria ficar ali, de pé ou sentado, até afogar-se. É mais rápido, assim.
O tenente piscou, olhando para o corpo. — Mas, você matou-o.
— Sim, porque ele se tornaria um empecilho para nós. Você viu seu rosto. Enlouquecido.
Depois de um minuto, o tenente assentiu.
Foram andando pela chuva.
Estava escuro, e suas lanternas emitiam um facho que penetrava pela chuva apenas alguns pés. Depois de meia hora, tiveram de sentar-se pelo resto da noite, a fome doendo, esperando a madrugada; quando veio, era cinza e continuava a chover, como sempre, e recomeçaram a marcha.
— Erramos no cálculo — falou Simmons.
— Não. Mais uma hora.
— Fale mais alto. Não posso ouvi-lo. — Simmons parou e sorriu. Tocou as orelhas. — Minhas orelhas. Acabaram-se. Toda essa chuva caindo entorpeceu-me completamente.
— Não pode ouvir nada? — perguntou o tenente. — Quê? — fez Simmons, olhos surpresos.
— Nada. Vamos.
— Acho que vou esperar aqui. Vá na frente.
— Não pode fazer isso.
— Não posso ouvi-lo. Vá adiante. Estou cansado. Não creio que o Domo Solar esteja nessa direção, afinal. E se está, provavelmente tem furos no teto, como o último. Creio que simplesmente vou sentar-me aqui.
— Levante-se!
— Até mais, tenente.
— Não pode desistir agora.
— Tenho uma arma aqui que diz que vou ficar. Simplesmente, não me importo mais. Ainda não enlouqueci, mas quase. Não quero continuar isto. Assim que você sair da minha vista, vou usar esta arma em mim mesmo.
— Simmons!
— Você disse meu nome. Pude ler isso em seus lábios.
— Simmons.
— Veja, é uma questão de tempo. Ou morro agora, ou em algumas horas. E se você chegar até aquele próximo Domo, se chegar lá, e achar a chuva entrando pelo teto. Não seria bacana?
O tenente esperou e então saiu chapinhando pela chuva. Virou-se e chamou mais uma vez, mas Simmons estava apenas sentado ali com a arma nas mãos, esperando que ele se afastasse. Abanou a cabeça e acenou um adeus ao tenente.
O tenente nem sequer ouviu o som do disparo.
Começou a comer as flores, enquanto andava. Enganavam, por pouco tempo, e não eram venenosas; tampouco particularmente substanciais, e vomitou-as, enjoado, mais ou menos um minuto depois.
Uma vez, pegou algumas folhas e tentou fazer um chapéu com elas, mas já havia tentado isso, antes; a chuva desfazia as folhas, em sua cabeça. Uma vez apanhada, a vegetação apodrecia rapidamente e caía em massa cinzenta, pelos dedos.
— Mais cinco minutos — dizia para consigo mesmo. — Mais cinco minutos e então vou para o mar e continuarei andando mar adentro. Não fomos feitos para isto; nenhum terráqueo já conseguiu, nem conseguirá. Os nervos, os nervos.
Foi tentando abrir caminho através de um oceano de lodo e folhagens, e chegou a uma pequena colina.
A alguma distância, uma mancha amarela fraca por entre os frios véus de água.
O próximo Domo Solar.
Através das árvores, uma longa construção amarela, redonda, longe. Por um momento ficou ali, bamboleando, olhando para ele.
Começou a correr e então reduziu a marcha, pois estava com medo. Não gritou. E se for o mesmo? E se for o Domo morto, sem sol dentro? — era o que pensava.
Escorregou e caiu. Fique aqui, pensou; você errou de novo. Fique aqui. Não adianta. Beba quanto quiser.
Mas, conseguiu ficar de pé de novo, e cruzou diversos regatos, e a luz amarela intensificou-se, e começou a correr de novo, pés esmagando espelhos e vidros, seus braços debulhando diamantes e pedras preciosas.
Chegou à porta amarela. As letras acima dela diziam: DOMO SOLAR. Estendeu sua mão entorpecida, para afagá-las. Então, pegou a maçaneta, e caiu para dentro.
Ficou por um pouco olhando em volta. Atrás dele, a chuva turbilhonava, à porta, à frente dele, sobre uma mesa baixa, um pote prateado de chocolate, fumegando,e uma taça cheia de marshmallow. E ao lado em outra bandeja, sanduíches espessos de carne de galinha, tomates frescos e cebola verde. E numa haste bem à frente de seus olhos, uma grande toalha turca, grossa, e um armário para jogar as roupas molhadas, e à direita, um cubículo onde os raios caloríferos poderiam secá-lo instantaneamente. E sobre uma cadeira, um uniforme novo, esperando por alguém; ele, ou qualquer outro, perdido, para ser usado. E mais adiante, café, em recipientes aquecidos, de cobre, um fonógrafo do qual logo sairia música suave, e livros encadernados em couro vermelho e marrom. E perto dos livros, uma cama, macia, na qual se poderia deitar, exposto e nu, para se embeber nos raios daquela coisa grande e luminosa que dominava a longa sala.
Pôs as mãos nos olhos. Viu outros homens vindo em sua direção, mas não lhes disse nada. Esperou, e abriu os olhos. A água de seu uniforme empoçava-se a seus pés, e sentiu secando seu cabelo, e o rosto, e o peito, e braços e pernas.
Ele estava olhando para o sol.
Estava pendurado no centro da sala, grande e amarelo e quente. Não fazia barulho, e não havia o menor ruído na sala. A porta foi fechada e a chuva apenas uma recordação para seu corpo formigante. O sol estava alto no céu azul da sala, quente, cálido, amarelo, muito bom.
Adiantou-se, rasgando suas roupas, enquanto andava.
Seus olhos eram fogo e o hálito flamejava das bocas das bruxas enquanto inclinavam-se para provar do caldeirão com dedos ossudos, longos e engordurados.
"Quando nós três nos encontraremos
De novo, no trovão, relâmpago, ou chuva, estaremos?"
Dançavam embriagadas às margens de um oceano vazio, empestando o ar com suas três línguas, e queimando-o com seus olhos felinos malevolamente rebrilhando:
"À volta do caldeirão dancemos:
Dentro envenenadas entranhas lancemos...
Duplo, duplo penar, e bulha;
Fogo: queima; caldeirão: borbulha."
Fizeram uma pausa e deram um olhar à volta. — Onde está o cristal? Que é das agulhas?
— Aqui!
— Ótimo!
— A cera amarela, engrossou? —Sim!
— Derrame-a no molde de ferro!
— A imagem de cera, está feita? — Conformavam-na como gotas de melaço, em suas mãos verdolengas.
— Trespasse o coração com a agulha!
— O cristal, o cristal; pegue-o na sacola do tarô. Limpe-o; dê uma olhada!
Vergaram-se sobre o cristal, rostos pálidos.
"Ver, ver, ver..."
Uma espaçonave deslocava-se, pelo espaço, do planeta Terra para o planeta Marte. A bordo, os homens estavam morrendo.
O capitão ergueu sua mão, cansado. — Teremos de usar a morfina.
— Mas, capitão...
— Veja por si mesmo o estado deste homem. — O capitão levantou o cobertor de lã, e o homem, preso, sob o lençol molhado, mexia-se e resmungava. O ar estava saturado de uma tempestade sulfúrea.
— Eu vi... eu vi... — O homem abriu os olhos, dirigindo-os para a escotilha, onde havia apenas um espaço negro, estrelas passando, a Terra, remota, e o planeta Marte erguendo-se, grande e rubro. — Eu vi... um morcego, coisa grande, um morcego com rosto de homem, ocupando toda a escotilha frontal. Esvoaçando, esvoaçando sempre...
— Pulso? — perguntou o capitão.
O ordenança tomou-o. — Cento e trinta.
— Ele não pode continuar assim. Use a morfina. Venha cá, Smith.
Afastaram-se. De súbito, as chapas do chão estavam rendilhadas com ossos e caveiras brancas, que gritavam. O capitão não se atreveu a olhar para baixo, e acima da gritaria disse: — É aqui onde Perse está? — entrando por uma porta.
Um médico, de branco, afastava-se de um corpo. — Simplesmente não entendo.
— Como Perse morreu?
— Não sabemos, Capitão. Não foi seu coração, seu cérebro, ou choque. Ele simplesmente... morreu.
O capitão tomou o pulso do médico, que se transformou numa sibilante serpente, que mordeu-o. O capitão não se alterou. — Cuide-se. Você também tem um coração.
O doutor concordou. — Perse queixava-se de dotes; agulhas, dizia, em seus pulsos e pernas. Dizia que se sentia como cera, derretendo. Caiu. Ajudei-o. Chorava como uma criança. Disse que tinha uma agulha de prata no coração. Morreu. E aqui está. Podemos repetir a autópsia para você. Tudo está fisicamente normal.
— Impossível! Ele morreu de alguma coisa!
O capitão dirigiu-se para uma escotilha. Ele cheirava a mentol e iodina, e caldo verde, com suas mãos manicuradas e unhas polidas. Seus dentes bem escovados, e orelhas rosadas, impecavelmente limpas, como suas faces. Seu uniforme tinha a cor de sal novo, e suas botas eram espelhos negros, luzindo, lá embaixo. Seu cabelo, de corte militar, cheirava a álcool puro. Mesmo seu hálito era puro, novo, limpo. Não havia nele a menor mácula. Era um instrumento novo, afiado, e pronto, ainda quente do forno do cirurgião.
Os homens com ele eram do mesmo molde. Poder-se-ia esperar ver grandes chaves de corda, de latão, girando devagar, espetadas em suas costas. Eles eram dispendiosos, talentosos; brinquedos bem lubrificados, obediente e lestos.
O capitão contemplava o planeta Marte, avolumando-se no espaço.
— Estaremos descendo, em cerca de uma hora, naquele planeta desgraçado. Smith, viu algum morcego, ou teve algum outro pesadelo?
— Sim, senhor. Um mês antes do foguete decolar de Nova Iorque, senhor. Ratos brancos mordendo meu pescoço, bebendo meu sangue. Não contei. Receava que não me deixaria vir nesta viagem.
— Não importa — suspirou o capitão. — Também tive sonhos. Em todos os meus cinqüenta anos, nunca tive um sonho, até a semana anterior à decolagem, da Terra. E então, passei a sonhar toda a noite, que eu era um lobo branco. Apanhado numa colina nevada. Morto com uma bala de prata. Enterrado com uma estaca de madeira no coração. — Moveu a cabeça na direção de Marte. — Você acha, Smith, que eles sabem que estamos chegando?
— Nem sabemos se há marcianos, senhor.
— Não? Começaram a nos assustar oito semanas atrás, antes de começarmos. Mataram Perse e Reynolds, agora. Ontem, cegaram Grenville. Como? Não sei. Morcegos, agulhas, sonhos, homens morrendo sem razão nenhuma. Mas estamos no ano de 2120, Smith. Somos racionais. Isto tudo não pode estar acontecendo. Mas está! Sejam lá quem forem, com suas agulhas e seus morcegos, tentarão acabar com todos nós. — Virou-se. — Smith, pegue aqueles livros em meu arquivo. Quero-os para quando descermos.
Duzentos livros foram empilhados no convés do foguete.
— Obrigado, Smith. Já deu uma olhada neles? Acha que estou maluco? Talvez. É um palpite meio doido. Na última hora, encomendei estes livros, do Museu Histórico. Por causa de meus sonhos. Por vinte noites fui apunhalado, despedaçado, um morcego, aos gritos, espetado para dissecação, uma coisa apodrecendo subterraneamente numa caixa preta; sonhos maus, e pervertidos. Toda a tripulação sonhou com bruxedos e fantasmagorias, vampiros e espectros, coisas que eles não podiam conhecer. Por quê? Porque os livros sobre esses assuntos foram destruídos há um século. Por força da lei. Proibidos para todos, possuir aqueles volumes assustadores. Esses livros que você vê aqui, são os últimos exemplares, mantidos para fins de registro histórico, trancados nos cofres do museu.
Smith abaixou-se, para ler os títulos, empoeirados: Lendas de Mistério e Fantasia, por Edgar Allan Poe. Drácula, por Bram Stoker. FrankenStein, de Mary Shelley.,4 Volta do Parafuso, de Henry James. A Lenda da Cova Adormecida, de Washington Irving. A Filha de Rappaccini, de Nathaniel Hawthorne. Uma Ocorrência na Ponte de Owl Creek, de Ambrose Bierce. Aventuras de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carrol. Os Salgueiros, de Algernon Blackwood. O Mágico de Oz, de L. Frank Baum. A Estranha Sombra em Innsmouth, de H. P. Lovecraft. E mais! Livros de Walter de la Mare, Wakefield, Harvey, Wells, Asquith, Husley; todos autores proibidos. Todos queimados no mesmo ano em que o Dia das Bruxas foi proscrito, e o Natal, banido! — Mas, senhor, para que nos serviria isto, aqui no foguete?
— Não sei — suspirou o capitão — ainda.
As três ogras levantaram o cristal, aonde tremulava a imagem do capitão, sua voz fraca retinindo pelo vidro afora:
— Não sei — suspirou o capitão — ainda. As feiticeiras entreolharam-se, rubramente.
— Não temos muito tempo — disse uma.
— Melhor avisar a eles, na Cidade.
— Desejarão saber a respeito dos livros. Não parece bom. Aquele tresloucado capitão!
— Em uma hora o foguete deles terá descido.
As três ogras estremeceram e deram uma olhada para a Cidade de Esmeralda, na orla do seco mar do planeta. Em sua janela mais alta, um homenzinho segurava um pano vermelho sangüíneo. Olhava para os desertos onde as feiticeiras alimentavam seu caldeirão e mol-
davam a cera. Mais adiante, dez mil outras fogueiras azuis e incensórios, fumos negros de tabaco e sementes de abeto-canela, e pó de ossos, erguiam-se, tão maciamente como mariposas, pela noite marciana. O homem contava os fogos, mágicos, raivosos. Então, com o olhar das três bruxas, ele retirou-se. O pano carmesim, solto, caiu, fazendo o portal distante piscar, como um olho amarelo.
O Sr. Edgar Allan Poe estava na janela da torre, um leve vapor de espíritos em seu hálito. — As amigas de Hécate estão ocupadas, esta noite — falou, ao ver as bruxas, lá embaixo.
Uma voz atrás dele: — Vi William Shakespeare na praia, antes, fustigando-os. Ao longo do mar, e exército de Shakespeare, sozinho, atinge os milhares: as três bruxas, Oberon, o pai de Hamlet, Puck... todos, todos eles... milhares! Meu bom Deus, um razoável oceano de gente.
— O bom William. — Poe retornou. Deixou o pano vermelho abater-se. Ficou parado por um momento para observar o aposento de pedra nua, a mesa, em madeira negra, a vela, o outro homem, sr. Ambrose Bierce, sentado muito à vontade, ali, acendendo fósforos, e vendo-os queimarem-se, assobiando entre dentes, de quando em quando rindo sozinho.
— Precisamos falar com o Sr. Dickens, agora — falou o Sr. Poe. Já adiamos demasiado. É uma questão de horas. Você virá comigo à casa dele, Bierce?
Bierce ergueu os olhos, alegremente. — Eu estava pensando... o que acontecerá conosco?
— Se não pudermos matar os homens do foguete, vamos assustá-los, caso contrário, precisaremos ir embora, claro. Iremos para Júpiter, e quando eles chegarem, em Júpiter, iremos para Saturno, e quando chegarem a Saturno, iremos para Urano, ou Netuno, e então para Plutão...
— E então?
O rosto do Sr. Poe estava cansado; havia brasas ainda, apagando-se, em seus olhos, e uma triste desolação, em seu modo de falar, e uma inutilidade em suas mãos, e no modo com que seu cabelo caía frouxamente sobre seus sobrolhos, admiravelmente brancos. Era como um satã de alguma obscura causa perdida, um general, retornando de uma invasão fracassada. Seu bigode sedoso, macio, estava gasto por seus lábios imaginadores. Ele era tão pequeno que sua testa parecia flutuar, ampla e fosforescente, sozinha, na sala escura.
— Temos a vantagem de formas superiores de viajar — falou. — Podemos sempre esperar por uma guerra atômica deles, dissolução, a volta da idade das trevas. O retorno da superstição. Poderíamos então voltar à Terra, todos nós, numa só noite. — Os olhos negros do Sr. Poe cismavam abaixo de sua testa redonda e luminosa. Olhou para o teto. — Então, eles vêm para arruinar este mundo também? Não vão deixar nada sem profanar, não?
— Uma matilha pode parar enquanto não alcança sua presa, e não devora suas entranhas? — falou Bierce. — É uma guerra e tanto. Eu me sentaria de lado, e contaria os pontos. Tantos terráqueos cozinhados em óleo, tantos Encontrados em Garrafas queimados, tantos terráqueos perfurados com agulhas, tantas Mortes Rubras postas para correr por uma bateria de seringas hipodérmicas — ha!
Poe oscilou, nervoso, meio bêbado com o vinho. — Que fizemos? Fique conosco, Bierce, em nome de Deus! Tivemos um julgamento justo perante uma companhia de críticos literários? Não! Nossos livros foram coletados por limpas e estéreis pinças de cirurgia, e jogados em caldeiras, para queimar, para serem eliminados todos os seus germes necrofílicos. Malditos sejam todos!
— Acho nossa situação fascinante — falou Bierce.
Foram interrompidos por um grito histérico da escadaria da torre.
— Sr. Poe! Sr. Bierce!
— Sim, sim, estamos indo! — Poe e Bierce desceram, para encontrar um homem ofegando, apoiado à parede de pedra, da passagem.
— Ouviram as novas? — gritou imediatamente, agarrando-os como um homem prestes a cair de um rochedo. — Em uma hora, eles vão descer! Estão trazendo livros com eles... velhos livros, disseram as bruxas! O que estão fazendo na torre, numa hora como esta? Por que não estão agindo?
Poe disse: — Estamos fazendo tudo o que podemos, Blackwood. Você é novo, para tudo isso. Vamos, estamos indo para a casa do Sr. Charles Dickens...
— ...para contemplar nosso fim, nosso negro fim — disse o Sr. Bierce, piscando.
Moveram-se, pelas goelas ecoando seus passos pelo castelo, nível após nível verde sombrio, afundando-se em ranço e decadência e aranhas e teias de sonho. — Não se preocupe — dizia Poe, sua fronte qual grande lâmpada branca à frente deles, descendo, afundando. — Ao longo de todo o mar morto, esta noite, chamarei os outros. Seus amigos e os meus, Blackwood, Bierce. Estão todos lá. Os animais, e as velhas, e os homens altos, com os agudos dentes brancos. As armadilhas estão esperando; os poços, sim, e os pêndulos. A Morte Rubra. — Aqui, ele riu-se quietamente. — Sim, mesmo a Morte Rubra. Nunca pensei que haveria um tempo em que a Morte Rubra de fato existiria. Mas eles pediram, e terão!
— Mas seremos fortes o bastante? — interrogou Blackwood.
— Quão forte essa força? Eles não estarão preparados para nós, pelo menos. Não têm imaginação suficiente. Aqueles homens limpinhos do foguete, com seus capuchos anti-sépticos e elmos de aquário redondo, com sua nova religião. Em seus pescoços, pendurados em correntes de ouro, bisturis. Sobre suas cabeças, um diadema de microscópios. Em seus dedos sagrados, urnas fumarentas de incenso, que na verdade são apenas esterilizadores para defumar a superstição. Os nomes de Poe, Bierce, Hawthorne, Blackwood... blasfêmia para seus lábios puros.
Fora do castelo, avançavam por um espaço aquoso, uma lagoa que não era lagoa, que enevoava-se à frente deles como a substância dos pesadelos. O ar cheio de sons de asas, alaridos, a sensação de ventos e negrores. Vozes alteradas, vultos inclinados sobre fogueiras de acampamentos. O Sr. Poe observava as agulhas cosendo, cosendo, cosendo, à luz do fogo; cosendo dor e miséria, cosendo malignidade em marionetes de cera, bonecos de argila. Os cheiros do caldeirão, com alho silvestre, e pimentão, e açafrão, chiavam, para encher a noite com uma pungência maldosa.
— Continuem com isso! — disse Poe. — Volto logo!
Em toda a praia vazia, silhuetas escuras erguiam-se e decresciam, avultavam-se e esfumavam-se em fumo negro no céu. Os sinos tocavam nas torres das montanhas, e os corvos de alcaçuz eram espalhados, com o som do bronze, e dissolvidos em cinzas.
Sobre um molhe solitário, num pequeno vale, Poe e Bierce apressavam-se, e encontraram-se repentinamente numa rua pedregosa, num inverno frio, pálido, mordente, com pessoas batendo os pés em quintais de laje, para aquecê-los; e também nevoente, velas acesas nas janelas de escritórios e lojas, onde se viam dependurados os perus, para a ceia de Natal. A alguma distância, alguns meninos, agasalhados, soprando sua respiração ao ar gélido, trinavam — Deus lhes dê alegria, cavalheiros — enquanto que as pedras imensas de um grande relógio continuamente batiam a meia-noite. Crianças saíam correndo da padaria com jantares quentes em seus punhos sujos, em bandejas, e sob tampas metálicas.
Numa tabuleta que dizia: SCROOGE, MARLEY & DICKENS, Poe tocou a aldrava com a cara de Marley, e de dentro, abrindo-se a porta alguma polegadas, e uma lufada de música quase arrebatou-os para o baile. E ali, além do ombro do homem que apontava um bem aparado cavanhaque e bigode para eles, estava o Sr. Fezziwig, batendo palmas, e a Sra. Fezziwig, um só amplo e substancioso sorriso, dançando e colidindo com outros folgazães, enquanto o violino gorjeava e o riso corria solto, em torno de uma mesa, como cristais de um lustre agitados por um vento subitâneo. A grande mesa estava ocupada com presunto, e peru, e azevinho, e ganso; tortas, leitões, grinaldas de salsichas, laranjas e maçãs; e lá estava Bob Cratchit e Little Dorrit, e Tiny Tim e o próprio Sr. Fagin, e um homem que parecia um pedaço não digerido de bife, um pelote de mostarda, um pedaço de queijo, um fragmento de batata mal passada; quem mais, senão o Sr. Marley, correntes e tudo, enquanto o vinho corria e os perus tostados faziam o melhor que podiam para fumegar!
— O que querem? — perguntou o Sr. Charles Dickens.
— Viemos parlamentar com você de novo, Charles, precisamos de sua ajuda — disse Poe.
— Ajuda? Pensa que vou ajudá-los a lutar contra aqueles bons homens que chegam no foguete? Não pertenço a este lugar, de qualquer modo. Meus livros foram queimados por engano. Não sou nenhum espiritualista, nenhum escritor de horrores e terrores, como você, Poe, você, Bierce, ou os outros. Nada tenho a ver com pessoas terríveis como vocês!
— Você é muito persuasivo, — arrazoou Poe. — Poderia ir ao encontro dos homens do foguete, tranqüilizá-los, arrefecer as suspeitas deles para conosco, e então... então tomaríamos conta deles.
O Sr. Dickens olhou para as dobras da capa preta que escondia as mãos de Poe. Delas, sorrindo, Poe retirou um gato preto. — Para um dos nossos visitantes.
— E para os outros?
Poe sorriu de novo, agradavelmente. — O Enterro Prematuro?
— O senhor é um homem sombrio, Sr. Poe.
— Sou um homem assustado, e irado. Sou um deus, Sr. Dickens, assim como o senhor é um deus, assim como todos nós somos deuses, e nossas invenções, nossa gente, se assim o quiser, não só foram ameaçadas, mas banidas e queimadas, rasgadas e censuradas, arruinadas e acabadas. Os mundos que criamos estão degringolando! Mesmo os deuses precisam lutar!
— E daí? — O Sr. Dickens inclinou a cabeça para o lado, impaciente para retomar à festa, à música, à comida. — Talvez possa explicar-me por que estamos aqui? Como viemos parar aqui?
— A guerra suscita a guerra. A destruição suscita a destruição. Na Terra, na última metade do século vinte, começaram a proscrever nossos livros. Ó, coisa hedionda; destruir nossas criações literárias dessa forma! Isto nos enviou para onde? Morte? O Além? Não gosto de abstrações. Não sei. Só sei que nossos mundos e nossas criações nos chamaram e tentamos salvá-los, e a única salvação ao nosso alcance era passar o século aqui em Marte, esperando que a Terra sucumbisse sob o peso desses cientistas e suas dúvidas; mas agora, vieram para nos varrer daqui, nós e as nossas coisas tenebrosas, e todos os alquimistas, bruxas, vampiros, espectros que, um por um retiraram-se pelo espaço afora, enquanto que a ciência abria caminho em todos os lugares da Terra, e finalmente não deixaram alternativa, senão o êxodo. Você precisa ajudar-nos. Você tem muito jeito para falar. Precisamos de você.
— Repito, não sou dos seus. Não os aprovo, nem aos outros — exclamou Dickens, irritado. — Nunca brinquei com bruxas e vampiros e coisas da meia-noite.
— E o que diz de Uma Cantiga de Natal?
— Ridículo! Uma história. Sim, escrevi umas poucas outras sobre fantasmas, talvez, mas e daí? Minhas obras fundamentais não tinham nada dessas bobagens!
— Enganados ou não, eles o agruparam conosco. Destruíram seus livros; seus mundos também. O senhor deve odiá-los, Sr. Dickens!
— Admito que são grosseirões e boçais, mas é tudo. Bom-dia!
— Deixe vir o Sr. Marley, pelo menos!
— Não!
A porta bateu. Enquanto Poe se afastava, pela rua, escorregando pelo chão gelado, o cocheiro tocando uma música alegre num trompete, veio um grande coche, do qual saíram, rostos vermelhos, rindo e cantando, os Pickwickianos, batendo à porta, gritando Feliz Natal, alto e bom som, quando a porta da casa foi aberta pelo garoto gordo.
O Sr. Poe afanava-se, pela praia do mar seco, meia-noite. Perto de fogueiras e fumaças ele hesitava, para lançar ordens, verificar os caldeirões borbulhantes, os venenos e os pentagramas em giz. — Muito bem! — dizia, e continuava adiante. — Ótimo! — exclamava, e corria de novo. As pessoas juntavam-se a ele, e o acompanhavam. Aqui estavam o Sr. Coppard e o Sr. Machen, correndo com ele, agora. E lá estavam odientas serpentes e demônios irados, e dragões flamejantes de bronze, e víboras cusparentas e feiticeiras trêmulas, assim como as pontas, e urtigas, e espinhos e toda a vil escumalha e destroços do oceano da imaginação em retirada, deixados na praia da melancolia, gemendo, espumando e cuspindo.
O Sr. Machen parou. Sentava-se como uma criança, na areia fria. Começou a soluçar. Tentaram consolá-lo, mas ele não queria escutar. — Eu pensei, — disse. — O que acontecerá conosco quando os últimos exemplares de nossos livros forem destruídos?
O ar turbilhonou.
— Nem fale nisso!
— Precisamos — disse o Sr. Machen, angustiado. — Agora, agora, quando o foguete descer, o senhor, Sr. Poe; Coppard; Bierce; todos vão desvanecer. Como fumaça de lenha. Soprados pelo vento. Suas faces se desfazendo...
— Morte! De verdade, para todos nós.
— Existimos apenas por causa do sofrimento na Terra. Se um edito final desta noite destruísse nossas últimas poucas obras, seríamos lâmpadas que se apagam.
Coppard queixou-se. — Imagino, quem sou. Em que mente da Terra, esta noite, existo? Em alguma cabana africana? Algum eremita lendo meus contos? É ele a lâmpada solitária, ao vento do tempo e da ciência? O orbe vacilante sustentando-me em meu exílio rebelde? Será ele? Ou algum garoto num porão abandonado, descobrindo-me, apenas a tempo! Oh, na noite passada senti-me doente; doente até a medula, pois há um corpo da alma, assim como um corpo do corpo, e este corpo da alma doía em todas as sua resplandecentes partes, e na noite passada, senti-me uma vela, gotejando. Quando repentinamente ergui-me, com uma nova luz, como criança, espirrando com a poeira, em algum sótão amarelento na Terra, mais uma vez encontrado num exemplar meu, gasto, carcomido pelo tempo! E assim foi-me concedida mais uma curta trégua!
Uma porta escancarou-se violentamente numa cabaninha, na praia. Um homenzinho magro, com a carne pendurada nele, às dobras, saiu e, sem dar atenção aos outros, sentou-se e ficou olhando seus punhos cerrados.
— Ali está um que me causa pena — murmurou Blackwood. — Olhem para ele, morrendo. Uma vez já foi mais real do que nós, que éramos humanos. Tomaram-no, esqueleto que era, e revestiram-no com séculos de carne rosada e nívea barba e roupa de veludo vermelho e botas pretas; fizeram-lhe renas, azevinho, ouropéis. E após séculos erigindo-o, afogaram-no num tanque de água sanitária, por assim dizer.
Os homens estavam em silêncio.
— Como deve ser na Terra? — imaginou Poe. — Sem Natal? Sem castanhas, sem árvore, sem enfeites, tamboretes, ou velas; nada... nada, senão a neve e o vento e o povo só e superficial...
Todos olharam para o velho, pequenino, com sua parca barba e roupa de veludo vermelho, desbotada.
— Já ouviram a história dele?
— Posso imaginar. O psiquiatra de olhos penetrantes, o sociólogo versado, o pedagogo frívolo e cheio de ressentimentos, os pais anti-sépticos...
— Uma situação deplorável — falou Bierce, sorrindo — para o comércio natalino, que, pelo que me lembro, no último Natal, estavam começando a colocar a ornamentação e a tocar músicas de Natal na véspera do Dia das Bruxas. Com alguma sorte, este ano, podem ter começado no Dia do Trabalho!
Bierce não continuou. Caiu para a frente, suspirando. Ao chegar ao chão, teve tempo de dizer apenas — Que interessante. — E então, enquanto todos eles observavam, horrorizados, seu corpo queimou em poeira azul e ossos calcinados, as cinzas espalhando-se pelo ar em restos negros.
— Bierce, Bierce! — Foi-se!
— Seu último livro, destruído. Alguém na Terra deve ter acabado de queimá-lo.
— Deus lhe dê a paz. Não resta nada dele, agora. Pois não somos nada, senão livros, e quando eles se forem, não restará mais nada.
O som de uma rápida passagem encheu o céu.
Gritaram, aterrorizados, e olharam para cima. No céu, ofuscando-o com nuvens de fogo estridentes; era o foguete! Em torno dos homens na praia, as lanternas balançavam; gritos agudos, um borbulhar e um odor de enraivecidas maldições. Abóboras com olhos iluminados erguiam-se, ao ar frio e limpo. Dedos finos fechavam-se em punhos e uma bruxa guinchou, com sua boca murcha:
Nave cai, quebra, nave!
Nave inteira, queima, nave!
Racha, estilhaça, treme, derrete, de fato!
Poeira de múmia, couro de gato!
É hora de irmos — murmurou Blackwood. — Adiante, para Júpiter, para Saturno ou Plutão.
— Fugir? — gritou Poe, ao vento. — Nunca!
— Sou um velho cansado!
Poe olhou para o rosto do velho, e acreditou nele. Subiu numa grande pedra e contemplou as dez mil sombras cinzentas, e luzes verdes e olhos amarelos, ao vento que assobiava.
— Os pós! — gritou.
Um odor quente e espesso de amêndoas amargas, almíscar, cominho, íris, semente de Alexandria!
O foguete desceu, inexorável, com o clamor de uma alma penada! Poe enfureceu-se. Brandiu os punhos para cima, e a orquestra de calor e fedor e ódio respondeu, numa sinfonia! Como pedaços de árvore arrancados, morcegos levantaram vôo! Corações inflamados, disparando como mísseis, estourando em pirotécnica sangrente, na atmosfera chamuscada. Descendo, descendo, inevitavelmente descendo, como um pêndulo veio o foguete. E Poe urrava, furiosamente, e encolhia-se a cada passagem do foguete, cortando e assolando o ar! Todo o mar morto parecia um poço aonde, aprisionados, esperavam o afundamento da máquina fatal, o machado reluzente; eram pessoas sob a avalanche!
— As serpentes! — gritou Poe.
E serpentinas ondulantes verdes dispararam para o foguete. Mas ele desceu, uma passagem, fogos, movimento, e descansou, ofegando, sobre gases quais plumagem rubra, a uma milha de distância.
— A eles! — berrou Poe. — O plano mudou! Só temos uma chance! Corram! A eles! A eles! Afoguemo-los com nossos corpos! Matemo-los!
E, como se tivesse ordenado a um mar violento para mudar seu curso, aspirar a si mesmo de seu leito primitivo, turbilhões selvagens de fogo espalhando-se, e correram como o vento e a chuva, e fortes relâmpagos sobre as areias do mar, por deltas vazios de rios, escurecendo a paisagem e gritando, assobiando e silvando, cuspindo e fundindo-se na direção do foguete que, extinto, ficava como uma impecável tocha no oco mais longínquo. Como se um grande caldeirão chamuscado de lava faiscante tivesse sido entornado, a multidão fervilhante e os animais mordazes, revolviam-se pelas profundezas secas.
— Matem-nos! — gritava Poe, correndo.
Os astronautas saltaram de sua nave, armas aprestadas. Andaram à volta, farejando o ar como mastins. Nada viram. Relaxaram.
O capitão adiantou-se, por último. Deu ordens rápidas. Lenha foi coletada, empilhada, e uma fogueira saltou para cima, num átimo. O capitão reuniu seus homens num semicírculo em torno dele.
— Um novo mundo — disse, forçando-se a falar com firmeza, muito embora relanceasse nervosamente, vez por outra, sobre o ombro, para o mar vazio. — O velho mundo deixado para trás. Um novo começo. 0 que de mais simbólico do que nós aqui, dedicados com toda a força, à ciência e ao progresso. — Fez um sinal com a cabeça para seu tenente. — Os livros.
A luz da fogueira iluminou os títulos condenados. — Os Salgueiros; O Estranho; Vede Esse Sonhador; Dr. Jekyll e Mr. Hyde; A Terra de Oz; Pellucidar; A Terra que o Tempo Esqueceu; Sonho de Uma Noite de Verão, e os monstruosos nomes de Machen e Edgar Allan Poe, e Cabell e Dunsany e Blackwood, e Lewis Carrol; os nomes, os velhos nomes, os nomes malignos.
— Um novo mundo. Com um gesto, queimamos o que restava do velho.
O capitão rasgou as páginas dos livros. Folha por folha rasgada, jogou-as às chamas.
Um grito!
Saltando para trás, os homens olharam para além da fogueira, para as bordas do desolador oceano desabitado.
Outro grito! Uma coisa alta e lancinante, como a morte de um dragão e o estardalhaço de uma ênea baleia sufocada, quando as águas de um oceano-leviatã se esgotam pelo chão abaixo, e se evaporam.
Era o som do ar precipitando-se para encher um vácuo onde, um momento antes, houvera algo!
O capitão calmamente dispôs do último livro, lançando-o ao fogo.
O ar parou de vibrar.
Silêncio!
Os astronautas ficaram tentando escutar.
— Capitão, ouviu aquilo?
— Não.
— Como uma onda, senhor. No fundo do mar! Pensei ter visto alguma coisa. Ali adiante. Uma onda negra. Grande. Correndo para nós.
— Você se enganou.
— Ali, senhor!
— O quê?
— Está vendo? Ali! A cidade! Lá longe! Aquela cidade verde, perto do lago! Está se esboroando! Está caindo!
Os homens forçaram a vista e andaram alguns passos à frente.
Smith parou, tremendo, entre eles. Pôs a mão na cabeça, como se para achar um pensamento, ali. — Lembro-me. Sim. Agora me lembro. Há muito tempo. Quando era criança. Um livro que li. Uma história. Oz, creio que se chamava. Sim Oz. A Cidade de Esmeralda de Oz...
— Oz?
— Sim, Oz, era o nome. Eu a vi agora, como na história. Eu a vi cair.
— Smith!
— Sim, senhor.
— Apresente-se ao médico.
— Sim, senhor! — Uma continência rápida.
— Tome cuidado.
Os homens caminharam cuidadosamente, além da luz ascética da nave para contemplar o extenso mar e as colinas baixas.
— Por que — cochichou Smith, desapontado, — não há ninguém aqui, absolutamente ninguém?
O vento soprou areia sobre seus pés, assobiando.
— Você tem que vencer um planeta com as mesmas armas dele, — falou Chatterton. — Vá chegando e rasgando, mate suas cobras, envenene seus animais, represe seus rios, despolinize seu ar, minar, perfurar, picaretar, e caia fora, quando tiver o que desejava. De outro modo, um planeta vai arrasar com você. Não se pode confiar em planetas. São destinados a serem diferentes, malignos, prontos para pegá-lo, especialmente quando são tão distantes, a um bilhão de milhas de lugar algum, de modo que você precisa pegá-los primeiro. Arranque-lhes a pele, é o que estou dizendo. Retire os minerais e corra, antes que o mundo-pesadelo estoure na sua cara. É assim que se trata com eles.
A espaçonave mergulhava na direção do planeta 7 do sistema estelar 84. Viajaram milhões de milhas; a Terra estava longe, seu sistema, e seu sol esquecidos, seu sistema reconhecido e investigado e explorado, e assim como outros sistemas, ordenhados e acabados, e agora os foguetes daqueles homenzinhos, de um planeta impossivelmente remoto estavam explorando universos mais distantes. Em poucos meses, poucos anos, podiam ir para qualquer lugar, pois a velocidade de sua nave era a velocidade de um deus, e agora, pela décima milésima vez, um dos foguetes da longa caçada estava descendo rumo a um mundo estranho.
— Não — disse o Capitão Foster. — Tenho demasiado respeito pelos outros mundos para tratá-los do jeito que você diz, Chatterton. Não é meu negócio devastar e arruinar, de qualquer maneira, graças a Deus. Estou feliz por ser apenas um astronauta. Você é o antropólogo-mineralogista. Vá em frente com sua mineração e devastação e escavação. Apenas olharei. Apenas ficarei por aí olhando esse novo mundo, seja lá qual for, ou seja lá qual seu aspecto. Gosto de olhar. Todos os astronautas gostam de olhar, ou não seriam astronautas. Você gosta de farejar novos ares, se é um astronauta, e ver novos oceanos e ilhas.
— Leve sua arma — disse Chatterton.
— No coldre — respondeu Forester.
Viraram-se juntos para a escotilha e viram o mundo verde erguendo-se para encontrar sua nave. — Imagino o que ele pensa de nós. — disse Forester.
— Não vai gostar de mim — disse Chatterton. — Vou providenciar para que não goste de mim. E não me importo, sabe; estou aqui pelo dinheiro. Vamos descer ali, por favor, Capitão; pelo que sei, me parece uma região rica.
Era a cor verde mais fresca que haviam visto desde a infância.
Lagos, como claras gotas de água azul, pelas colinas suaves; não haviam estradas amplas, placas ou cidades. É um mar de verdes golfos, pensou Forester, que se estende indefinidamente. Campos de golfe, campinas onde se pode andar dez mil milhas em qualquer direção e nunca encontrar nada. Um planeta de domingo, um mundo de gramado de críquete, onde se pode deitar no chão, um trevo nos dentes, olhos semicerrados, sorrindo para o céu, cheirando a grama, modorrar através de um eterno Sabbath, erguendo-se apenas na ocasião de abrir o jornal de domingo, ou fazer a bola com a faixa vermelha passar pela barreira.
— Se um planeta jamais foi uma mulher, este o é.
— Mulher por fora, homem por dentro — retrucou Chatterton. — Rijo por baixo; ferro, cobre, urânio, turfa negra. Não se deixe enganar pelos cosméticos.
Foi para o compartimento onde esperava a broca. Sua grande tromba de parafuso brilhava, azulada, pronta para penetrar a setenta pés e retirar rolhas de terra, ainda mais fundo, com extensões, até o núcleo do planeta. Chatterton piscou para ela. — Vamos fazer um bom trabalho com seu planeta, Forester.
— Sim, eu sei que você vai — falou Forester, pensativo. O foguete aterrissou.
— É muito verde, muito pacífico — disse Chatterton, — não gosto disso. — Voltou-se para o Capitão. — Vamos sair armados.
— Eu dou as ordens, se você não se importa.
— Sim, e minha companhia paga-nos com milhões de dólares de maquinaria, que devemos proteger; um investimento e tanto.
O ar do novo planeta 7 do sistema estelar 84 era bom. A porta abriu-se. Os homens alinharam-se, no mundo de estufa.
O último homem a emergir foi Chatterton, arma na mão.
Quando este pousou o pé no gramado verde, a terra tremeu. A grama tremeu. A floresta distante rumorejou, O céu pareceu piscar e escurecer, imperceptivelmente. Os homens estavam olhando para Chatterton, quanto tudo aconteceu.
— Um terremoto!
O rosto de Chatterton empalideceu. Todos riram.
— Não gosta de você, Chatterton!
— Mas que bobagem!
O tremor, finalmente, desapareceu.
— Bem — disse o capitão Forester, — não tremeu para nós, de modo que deve ser porque não aprova sua filosofia.
— Coincidência. — Chatterton sorria, desenxabido. — Vamos agora, depressa. Quero a Broca aqui em meia hora, para algumas amostras.
— Um momento — Forester adiantou-se, rindo. — Precisamos liberar a área primeiro, estaremos certos de que não há animais ou pessoas hostis. Além do que, não é todo ano que se acha um planeta como este, tão bonito; não pode reclamar de nós se quisermos dar uma boa olhada?
— Está bem. — Chatterton juntou-se a eles. — Mas vamos depressa.
Deixaram uma guarda na nave, e foram-se pelos campos e prados, por pequenas colinas e pequenos vales. Como um bando de garotos passeando, no melhor dia do melhor verão do mais belo ano da história, andando num clima de jogo de críquete, onde, se prestasse atenção, se podia escutar o farfalhar da bola de madeira pela grama, o 'clic' pela barreira, as suaves ondulações de vozes, uma súbita rajada de um riso de mulher de alguma porta cercada de hera, o tilintar de gelo numa jarra de chá, no verão.
— Ei — falou Driscoll, um dos tripulantes mais jovens, farejando o ar. — Trouxe uma bola de beisebol, e um bastão; podemos jogar depois. Que belo campo de beisebol!
Os homens riram baixinho, na estação do campeonato de beisebol, no bom vento fraco para tênis, no clima para andar de bicicleta e ir colher uvas silvestres.
— Que tal aparar toda esta grama? — perguntou Driscoll. Os homens pararam.
— Eu sabia que haveria algo de errado! — exclamou Chatterton.
— Esta grama: está recém-cortada!
— Provavelmente, uma espécie de dichondra, sempre curta. Chatterton cuspiu na grama, e esfregou-a com a bota. — Não gosto disso. Não gosto. Se algo acontecer conosco, ninguém na Terra vai ficar sabendo. Política idiota: se um foguete não retorna, nunca enviamos um segundo foguete para verificar por que.
— Bastante natural — respondeu Forester. — Não podemos perder tempo em mil mundos hostis, lutando guerras fúteis. Cada foguete representa anos, dinheiro, vidas. Não podemos nos dar ao luxo de gastar dois foguetes, se um prova que um planeta é hostil. Vamos para planetas sossegados. Assim como este.
— Imagino — dizia Driscoll — o que aconteceu a todas aquelas expedições perdidas, em mundos que nunca mais visitaremos.
Chatterton olhou para a floresta distante. Foram mortos a tiros, despedaçados, assados para o jantar. Tal como poderá ser conosco, a qualquer minuto. É hora de voltar ao trabalho, Capitão!
Estavam no topo de uma pequena elevação.
— Sintam — falou Driscoll, braços e mãos estendidos, frouxamente. — Lembram-se como corriam quando eram crianças, e como se sentia o vento. Como penas em seus braços. Corria-se, e pensava-se que a qualquer momento, se sairia voando, mas isto nunca acontecia.
Os homens ficaram lá, relembrando. Havia um cheiro de pólen e chuva nova secando sobre um milhão de folhas de grama.
Driscoll deu uma corridinha. — Sintam, por Deus, o vento. Sabe, nunca realmente conseguimos voar. Precisamos sentar dentro de toneladas de metal, longe de voar de verdade. Nunca voamos como pássaros, sozinhos. Não seria maravilhoso estender os braços assim... — Estendeu-os. — E correr. — Correu à frente deles, rindo com suas idiotices. — E voar! — gritou.
E saiu voando.
Passou o tempo nos relógios de pulso dourados dos homens lá embaixo. Olharam para cima. E do céu veio um som alto de uma risada quase inacreditável.
— Diga-lhe para descer — cochichou Chatterton. — Ele vai se matar.
Ninguém o ouviu. Seus rostos estavam erguidos, longe de Chatterton; estavam abobalhados, e sorrindo.
Por fim, Driscoll aterrissou, de pé. — Viram? Eu voei! Eles tinham visto.
— Deixe-me sentar, oh, Deus, meu Deus. — Driscoll batia nos joelhos, rindo convulsivamente. — Sou um pardal; sou um falcão, Deus me ajude. Vamos, vocês todos; tentem!
— Foi o vento, pegou-me, e eu voei! — disse, um instante depois, meio engasgado, tremendo de alegria.
— Vamos sair daqui. — Chatterton começou a dar as costas, indo devagar, em círculos, olhando para o céu azul. — É uma armadilha, querem que voemos todos. Então vão nos deixar cair, todos de uma vez, matando-nos. Vou voltar à nave.
— Vai esperar por minha ordem — disse Forester.
Os homens estavam com as testas franzidas, ao ar fresco, enquanto o vento suspirava à volta deles. Havia o som de uma pipa no ar, um som de Março eterno.
— Eu pedi ao vento que me levasse — disse Driscoll. — E ele obedeceu!
Forester fez sinal para os outros se afastarem para os lados. — Vou experimentar. Se eu morrer, voltem para a nave, todos vocês.
— Desculpe, não posso permitir isto, você é o capitão — interveio Chatterton. — Não podemos nos arriscar a perder você. Sacou sua arma. — Eu devo assumir alguma espécie de autoridade ou força, por aqui. Esta brincadeira está indo longe demais; estou ordenando que voltemos para a nave.
— Guarde sua arma — disse Forester, calmo.
— Quieto, seu idiota! — Chatterton relanceava ora para este, ora para aquele homem. — Não perceberam? Este mundo é vivo, e está brincando conosco, à vontade.
— Eu decido sobre isso — interveio Forester. — Você vai voltar à nave, num instante, sob prisão, se não abaixar essa arma.
— Seus loucos, se não vierem comigo, poderão morrer aí! Vou voltar, pegar minhas amostras e cair fora.
— Chatterton!
— Não tentem impedir-me!
Chatterton começou a correr. Então, de repente, deu um grito. Todos gritaram e olharam para cima.
— Lá vai ele — falou Driscoll.
Chatterton estava em pleno céu.
A noite viera, como o fechar de um grande e delicado olho. Chatterton sentava-se, aparvalhado, na encosta de uma colina. Os outros homens estavam à sua volta, cansados, e risonhos. Ele não olhava para os outros, nem para o céu, queria apenas sentir a terra, e seus braços e pernas, e seu corpo, encolhendo-se para dentro de si mesmo.
— Ora, mas não foi perfeito? — disse um homem chamado Koes-tler.
Eles tinham voado, como verdilhões, e águias, e pardais, e todos estavam contentes.
— Vamos, Chatterton, foi divertido ou não foi? — disse Koestler.
— É impossível — Chatterton fechou os olhos, bem apertados. — Só há um meio de fazer isso; está vivo. O ar está vivo. Como um punho, me apanhou. A qualquer minuto, agora, pode matar-nos. Está vivo.
— Está bem — disse Koestler — está vivo. E uma coisa viva tem seus propósitos. Suponha que o objetivo deste mundo seja fazer-nos felizes.
E, como para confirmar isto, Driscoll veio voando, cantis em cada mão. — Achei um riacho, testei e encontrei água pura; esperem até experimentar!
Forester tomou um cantil e ofereceu um gole a Chatterton. Chatterton abanou a cabeça e afastou o cantil bruscamente. Pôs as mãos cobrindo o rosto. — É o sangue deste planeta. Sangue vivo. Bebam isso, ponham isso dentro de vocês e porão este mundo dentro de vocês para olhar através de seus olhos e ouvir através de seus ouvidos. Não, obrigado!
Forester deu de ombros, e bebeu.
— Vinho! — disse ele.
— Não pode ser!
— Mas é! Cheire, saboreie! Um excelente vinho branco!
— Francês. — Driscoll experimentou o seu.
— Veneno — disse Chatterton. Passaram os cantis para todos.
Folgaram por toda a tarde suave, sem querer fazer nada, para perturbar a paz que os circundava. Eram como rapazinhos na presença de uma grande beleza, de uma bela e famosa mulher, receando que alguma palavra, algum gesto, e ela poderia desviar o rosto, e apartar deles seu encanto e suas amáveis atenções. Sentiram o terremoto de saudação a Chatterton, e eles não queriam o terremoto. Vamos aproveitar este Dia Depois do Fim das Aulas, este tempo de pescar. Vamos sentar-nos sob a sombra das árvores, ou andar pelas colinas, mas não vamos fazer escavações, nem testes, nem contaminações.
Acharam uma pequena correnteza que desembocava numa piscina quente. Peixes, nadando na fria correnteza acima, caíam rebrilhando na fonte quente, e flutuavam, minutos depois, cozidos, para a superfície.
Chatterton relutantemente juntou-se aos outros, comendo.
— Vai nos envenenar a todos. Sempre há algum truque, com coisas assim. Vou dormir no foguete, esta noite. Vocês, podem dormir fora, se quiserem. Para citar um mapa que vi, na história medieval: "Aqui haverá tigres". Em algum momento esta noite, quando vocês estiverem dormindo, os tigres e os canibais aparecerão.
Forester abanou a cabeça. — Vou com você, este planeta está vivo. É uma espécie única. Mas precisa de nós para se exibir, para que apreciemos sua beleza. Para que um cenário cheio de milagres, se não há audiência?
Mas Chatterton estava ocupado. Estava dobrado, enjoado.
— Estou envenenado! Envenenado!
Seguraram-no pelos ombros, até que a náusea passou. Deram-lhe água. Os outros estavam se sentindo bem.
— É melhor comer somente a comida da nave, de agora em diante — advertiu Forester, — será mais seguro.
— Vamos começar a trabalhar agora. — Chatterton vacilou, limpando a boca. — Gastamos um dia inteiro. Vou trabalhar sozinho, se necessário. Vou mostrar uma coisa a este lugar infernal!
E foi bambeando, até o foguete.
Ele não sabe quando está bem — murmurou Driscoll. — Não podemos impedi-lo, Capitão?
— Ele é praticamente o dono da expedição. Não precisamos ajudá-lo. Há uma cláusula em nosso contrato que garante a recusa do trabalho sob condições perigosas. Assim... façam a este Parque de Piquenique o que gostariam que fizessem a vocês. Nada de corte inicial das árvores. Recoloquem a turfa da grama. Não deixem cascas de banana no chão.
Agora, lá na nave, havia ruído de intensa atividade. Da porta do compartimento de carga saía a grande e reluzente Broca. Chatterton a seguia, dando ordens pelo rádio robô. — Por aqui!
— O louco.
— Agora! — gritou Chatterton.
A Broca mergulhou seu longo parafuso na verde grama. Chatterton acenou para os homens. — Vejam isto!
O céu tremeu.
A Broca estava no centro de um pequeno mar de grama. Por um momento mergulhou, trazendo para cima principalmente turfa, que cuspia sem cerimônia num recipiente de análises, que se agitava.
Agora, a Broca deu um guincho de metal retorcido, como um monstro que teve sua refeição interrompida. Do solo, abaixo dela, um líquido azulado lentamente borbulhou para cima.
Chatterton gritou. — Para trás, idiota!
A Broca pisoteava numa dança pré-histórica. Gritava como um comboio fazendo uma curva fechada, lançando faíscas vermelhas. Estava afundando. O lodo negro cedia, convulsivamente, abaixo dela.
Com um suspiro engasgado, uma série de sopros e convulsões, a Broca mergulhou numa espuma preta, como um elefante morto a tiros, e estrebuchando, trombeteando, como um mamute ao fim de uma Era, fazendo desaparecer membro por ponderoso membro dentro do poço.
— Louco, louco! — disse Forester, quase sem fôlego, fascinado com a cena. — Sabe o que é, Driscoll? É piche. A máquina cretina achou um pouco de piche!
— Ouça! Ouça! — gritava Chatterton para a Broca, e corria à borda do lago oleoso. — Por aqui, venha para cá!
Mas, tal como os velhos tiranos da terra, os dinossauros com seus longos pescoços gritadores, a Broca estava mergulhando e pisoteando o lago de onde não havia retorno, para aquecer-se na margens, firmes e sensatas.
Chatterton virou-se para os outros homens, à distância. — Façam alguma coisa, alguém!
A Broca desapareceu.
O poço de betume borbulhava, satisfeito, chupando os ossos do monstro, agora oculto. A superfície estava silenciosa. Uma grande bolha, a última, ergueu-se, expeliu o cheiro de petróleo antigo, e desfez-se.
Os homens se aproximaram e ficaram à margem do marzinho negro.
Chatterton parou de berrar.
Após um longo minuto de contemplação da poça de piche, silenciosa, Chatterton virou-se e olhou para as colinas, cegamente, para os verdes prados ondulantes. As árvores distantes estavam dando frutos, agora, deixando-os cair, aos poucos, ao chão.
— Vou mostrar-lhe — falou baixinho.
— Calma, Chatterton.
— Vai ver só.
— Sente-se e beba algo.
— Vai ver que não pode fazer isso comigo. Chatterton começou a andar para a nave.
— Espere um pouco — chamou Forester.
Chatterton corria. — Sei o que vou fazer, sei como resolver isto!
— Parem-no! — gritou Forester. Correu, e então lembrou-se que podia voar. — A bomba A está na nave; se ele usá-la...
Os outros homens haviam também pensado nisso, e já estavam no ar. Um pequeno arvoredo estava entre o foguete e Chatterton, enquanto este corria pelo chão, esquecido de que podia voar, ou com medo de voar, ou talvez sem permissão para voar, gritando. A tripulação ia para o foguete, para esperá-lo, o capitão com eles. Chegaram, alinharam-se, e fecharam a porta do foguete. A última vez que viram Chatterton foi quando ele estava mergulhando no bosque.
A tripulação continuou esperando.
— Aquele idiota, estúpido.
Chatterton não saiu do outro lado das árvores.
— Ele parou, esperando que relaxemos a guarda.
— Vão buscá-lo — disse Forester., Dois homens saíram correndo.
Agora, bem de leve, uma chuva suave e densa caía sobre o mundo verde.
— O toque final — observou Driscoll. — Nunca precisaríamos construir casas, aqui. Notem como não está chovendo sobre nós. Chove só à volta, à frente, atrás de nós. Que mundo!
Ficaram lá, secos, no meio da fria e azulada chuva. O sol estava se pondo. A lua, grande, da cor do gelo, subiu acima das refrescadas elevações.
— Só há uma coisa que falta a este mundo.
— Sim — disseram todos, devagar, pensativamente.
— Precisamos verificar isso — disse Driscoll. — É lógico. O vento nos transporta, as árvores e os rios nos alimentam, tudo está vivo. Talvez se pedíssemos companhia...
— Pensei muito, hoje, e em outros dias — falava Koestler. — Somos todos uns solteirões, e viajamos há anos, e cansados disso. Não seria bom pararmos em algum lugar? Aqui, talvez. Na Terra, você suaria sangue para economizar o bastante para construir uma casa, pagar os impostos; e as cidades fedem. Aqui, você nem mesmo precisaria de casa, com este clima. Se a coisa ficar monótona, pode pedir chuva, nuvens, neve, mudanças. Não é preciso trabalhar aqui, por nada.
— Seria cansativo. Enlouqueceríamos.
— Não — retrucou Koestler, sorrindo. — Se a vida ficasse muito mole, tudo o que precisaríamos fazer seria repetir algumas vezes, o que Chatterton disse: Aqui, haverá tigres. Ouçam!
Ao longe, não havia um fraco rugido de um grande felino, escondido nas florestas, ao poente? Os homens arrepiaram-se.
— Um mundo versátil — disse Koestler, secamente. Uma mulher que faz tudo para satisfazer a seus hóspedes, enquanto formos bonzinhos com ela. Chatterton não se comportou direito.
— Chatterton. E ele?
Como em resposta a isto, alguém gritou, longe. Eram os dois que haviam ido ver o que era de Chatterton, e estavam acenando na orla do bosque.
Forester, Driscoll e Koestler voaram para lá, desacompanhados.
— O que há?
Os homens apontaram para a floresta. — Pensamos que gostariam de ver isto, Capitão. É muito estranho. — Um dos homens indicou um caminho. — Olhe aqui, senhor.
Marcas de grandes garras no chão, recentes e nítidas.
— E também aqui. Umas gotas de sangue.
Um cheiro pesado, de algum felino, pelo ar.
— Chatterton?
— Creio que jamais o acharemos, Capitão.
Fraco, muito fraco, afastando-se, e por fim desaparecendo no silêncio do ocaso, vinha o rugido de um tigre.
Os homens estavam sobre a grama resiliente, perto do foguete e a noite era quente. — Lembro-me das noites de minha infância — falou Driscoll. — Meu irmão e eu esperávamos pela noite mais quente de julho, e dormíamos no gramado do Fórum, contando estrelas, e conversando; foi uma grande noite, a melhor de minha vida. — Então, acrescentou: — Sem contar esta, claro.
— Continuo pensando em Chatterton — disse Koester.
— Esqueça — respondeu-lhe Forester. — Dormiremos algumas horas e decolaremos. Não podemos nos arriscar a ficar aqui mais um dia. Não falo do perigo que pegou Chatterton. Não. Quero dizer, se ficássemos, passaríamos a gostar demais deste mundo. Nunca desejaríamos partir.
Uma brisa suave soprou sobre eles.
— Não quero ir, agora. — Driscoll pôs as mãos atrás da cabeça, deitou-se, e ficou calado. — E o planeta não quer que o deixemos.
— Se voltarmos â Terra, e contarmos a todos como este planeta é adorável, e então, Capitão? Virão aqui, para esmagá-lo, e arruiná-lo.
— Não — falou Forester, despreocupadamente, — primeiro, este planeta não toleraria uma invasão em grande escala. Não sei o que faria, mas poderia pensar em algumas coisas muito interessantes. Segundo, gosto demais deste planeta, e o respeito. Voltaremos à Terra e mentiremos. Diremos que é hostil. Que o seria realmente para um homem mediano, como Chatterton. Seria vir aqui e se dar mal. Acho que nem mesmo estaríamos mentindo.
— Engraçado — comentou Koestler — não estou com medo. Chatterton desaparece, tem uma morte horrível, talvez, e no entanto, estamos aqui deitados, ninguém corre, ninguém tem medo. É irracional. Porém, está certo. Confiamos no planeta, e ele confia em nós.
— Reparou que depois de ter bebido um pouco da água-vinho, não desejou mais? Um mundo de moderação.
Ficaram ouvindo algo como o grande coração desta terra, batendo quente e devagar, abaixo de seus corpos. Forester pensou. — Estou com sede. Uma gota de chuva espalhou-se sobre seus lábios. Riu-se, quietamente.
— Estou solitário — pensou. Longinquamente, escutou vozes agudas.
Fechou os olhos e teve uma visão. Havia um grupo de colinas de onde corria um rio de águas claras, e nos pontos rasos daquele rio, espadanando na água, rostos acesos, havia lindas mulheres. Brincavam como crianças, na praia. E veio à mente de Forester conhecimento sobre elas, e suas vidas. Eram nômades, vagando por este mundo, a seu bel-prazer. Não havia estradas ou cidades, só colinas e planícies, e ventos para levá-las como penas, para onde quisessem. À medida que Forester mal conformava as perguntas, alguém invisivelmente sussurrava as respostas. Não havia homens. Estas mulheres, sozinhas, produziam a sua raça. Os homens haviam desaparecido, cinqüenta mil anos antes. E onde estavam essas mulheres, agora? A uma milha da grande floresta, uma milha acima da grande correnteza de vinho, perto das seis pedras brancas, e mais uma milha até o rio largo. Lá, nos baixios, estavam as mulheres que dariam boas esposas, e gerariam lindas crianças.
Forester abriu os olhos. Os outros homens estavam de pé.
— Tive um sonho. Todos tinham sonhado.
— A uma milha da floresta verde...
— ...uma milha acima do rio de vinho...
— ...perto das seis pedras brancas... — falou Koestler.
— ...e mais uma terceira milha até o rio largo — completou Driscoll, que estava sentado.
Ninguém falou de novo, por um momento. Olhavam para a nave prateada, imóvel, à luz das estrelas.
— Andamos, ou voamos, Capitão? Forester nada disse.
Driscoll pediu: — Capitão, vamos ficar. Não vamos mais voltar para a Terra. Eles nunca virão investigar o que aconteceu conosco; pensarão que morremos aqui. O que acha?
O rosto de Forester estava transpirando. Sua língua umedecia os lábios. Suas mãos torciam-se sobre os joelhos. A tripulação esperava.
— Seria muito bom — falou por fim.
— Claro.
— Mas ... — suspirou Forester. — Temos nosso trabalho a fazer. Muita gente investiu em nossa nave. Devemo-lhes o nosso retorno.
Forester ergueu-se. Os homens ainda estavam sentados na grama, sem ouvi-lo.
— É uma noite tão boa, bela, maravilhosa... — disse Koestler. Olharam para o mar de colinas, e árvores, e os rios, correndo para seus horizontes.
— Vamos, todos a bordo — disse Forester, com dificuldade.
— Capitão...
— A bordo — repetiu ele.
O foguete subiu pelo céu. Olhando para trás, Forester viu todos os lagos e todos os vales.
— Deveríamos ter ficado — falou Koestler.
— Sim, eu sei.
— Ainda podemos voltar.
— Receio que não. — Forester ajustou o telescópio. — Olhe agora.
Koestler olhou.
A fisionomia daquele mundo havia mudado. Tigres, dinossauros, mamutes, apareceram. Vulcões em erupção, ciclones, furacões, cortavam as colinas na comoção e na fúria dos elementos.
— Sim, era mesmo uma mulher — comentou Forester. — Esperando visitantes por milhões de anos, preparando-se, embelezando-se. Mostrou o que tinha de melhor para nós. Quando Chatterton a maltratou, avisou-o algumas vezes, e então, quando ele tentou arruinar sua beleza, eliminou-o. Ela queria ser amada, como toda mulher, por si mesma, não por suas riquezas. Assim, depois de nos ter oferecido tudo voltamo-lhe as costas. É a mulher desprezada. Deixa-nos ir, sim, mas nunca poderemos voltar. Estará nos esperando com aquilo... — E apontou para os tigres e ciclones e os mares fervilhantes.
— Capitão — falou Koestler. — Sim.
— É um pouco tarde para dizer agora, mas logo antes de decolarmos, eu estava encarregado da porta. Deixei Driscoll evadir-se da nave. Ele queria ir. Não podia negar-lhe. Sou o responsável. Ele está lá agora, naquele planeta.
Ambos foram à escotilha de observação.
Depois de um bom tempo, Forester disse: — Estou contente por um de nós ter tido miolos o bastante para ter ficado.
— Mas ele deve estar morto, a uma hora dessas!
— Não, essa cena é só para nós, talvez uma alucinação visual. Debaixo de todos os tigres, e leões, e furacões, Driscoll está seguro, e vivo, porque ele é a única audiência para ela, agora. Ora, ela vai mimá-lo até estragá-lo. Vai ter uma vida maravilhosa, enquanto nos arrastarmos pelo espaço, para cima e para baixo, procurando, mas sem encontrar um outro planeta como este. Não, nunca voltaremos para "salvar" Driscoll. De qualquer modo, não creio que "ela" vá deixar. Toda velocidade à frente, Koestler, toda velocidade...
O foguete saltou para a frente, em acelerações crescentes.
E pouco antes do planeta desaparecer numa névoa luminosa, Forester imaginou poder ver Driscoll claramente, andando pela verde floresta, assobiando baixinho, todo o planeta, com todo seu frescor a seu redor, um rio de vinho só para ele, peixe cozido nas fontes quentes, frutas amadurecendo nas árvores, à meia-noite, e lagos e florestas distantes, esperando que ele passasse por lá. Driscoll andando pelos gramados infinitos, perto das seis pedras grandes, além da floresta, até a margem do rio, largo e luminoso...
No sonho, ele estava fechando a porta da frente, com suas janelas cor de morango, e de limão, e janelas como nuvens brancas, janelas como tempo bom, perto de um rio, no campo. Duas dúzias de vidros ao redor de um só, grande, da cor de vinho e gelatinas e de água congelada. Lembrou-se de seu pai segurando-o, quando era criança. — Veja! — E através do vidro verde, o mundo era esmeralda, musgo e menta, no verão. — Veja! — O vidro lilás transformava todos os passantes em coloridas uvas. E por fim, o vidro cor de morango, banhando perpetuamente a cidade em rosa morno, atapetando o mundo num rosado nascer do sol, fazendo o gramado parecer importado de algum bazar persa de tapetes. A janela cor de morango, a melhor de todas, curava as pessoas de sua palidez, aquecia a fria chuva, e incendiava as inquietas nevascas de fevereiro.
— Sim, sim! Ali!... Ele acordou.
Ouviu seus meninos conversando, antes de sair inteiramente de seu sonho, e estava no escuro, agora, escutando o som triste de sua conversa, como o vento soprando os brancos fundos marinhos, para as colinas azuis, e então, lembrou-se.
Estamos em Marte, pensou. — Quê? — sua mulher gritou, em meio ao sono.
Não se dera conta do que dissera; ficou parado, o mais quieto que podia. Mas agora, com uma estranha espécie de realidade entorpecida, viu sua mulher levantar-se para assombrar o quarto, sua face pálida olhando pelas pequenas janelas altas de sua cabana, para as nítidas, porém incomuns estrelas.
— Carrie — sussurrou ele.
Ela não escutou.
— Carrie — ele repetiu. — Há algo que eu gostaria de lhe dizer. Já há um mês que eu queria dizer... amanhã... amanhã de manhã, haverá...
Mas sua mulher estava sentada, abstraída, ao azul das estrelas, e não olhava para ele.
Se ao menos o sol viesse, ele pensou, se não houvesse noite. Pois durante o dia, construía a cidade da colônia, os meninos estavam na escola, e Carrie tinha de limpar, jardinar, cozinhar. Mas quando o sol se punha, e suas mãos ficavam vazias de flores, ou martelos e pregos e aritmética, suas memórias, como aves noturnas, vinham para casa no escuro.
Sua mulher mexeu-se, virou um pouco a cabeça.
— Bob — falou, por fim — quero ir para casa. — Carrie!
— Isto não é nossa casa — ela disse.
Ele viu que os olhos dela estavam cheios de lágrimas. — Carrie, agüente um pouco mais.
— Não tenho unhas para me agarrar!
E, como se andasse, adormecida, abriu suas gavetas e retirou camadas de lenços, blusas, roupas de baixo, e pôs em cima do móvel, como se não visse o que fazia, deixando seus dedos apalparem, tirar as coisas, e pô-las de lado. A rotina já era bem familiar, agora. Ela falaria, e tiraria as coisas, e ficaria um pouco em silêncio, e então se afastaria daquilo, voltando para a cama e para seus sonhos. Ele receava que alguma noite ela esvaziasse todas as gavetas, e apanhasse as poucas malas velhas, encostadas na parede.
— Bob... — A voz dela não era ressentida, mas suave, monótona, e tão sem cor como o luar que mostrava o que ela fazia. — Tantas noites, por tantos meses, falei assim; estou envergonhada. Você trabalha duro, construindo as casas na cidade. Um homem que trabalha tão duro não deveria ter de escutar uma mulher lamuriosa. Mas não se pode fazer nada, senão falar. São as pequenas coisas que mais me fazem falta. Não sei; coisas bobas. Nosso balanço, da varanda da frente. A cadeira de balanço, de vime, as noites de verão. Olhar as pessoas passando, ao anoitecer, lá em Ohio. Nosso piano preto, desafinado. Meus vasos suecos trabalhados. A mobília da sala de estar; ora, era como um bando de elefantes, eu sei, e tudo velho. E os pendentes chineses de cristal, que bimbalhavam com o vento. E conversar com os vizinhos, na varanda da frente, nas noites de julho. E todas aquelas coisas malucas e bobas... não são importantes. Mas parece que são coisas que vêm à mente, pelas três da madrugada. Desculpe.
— Não há o que desculpar. Marte é um lugar afastado. Cheira um lugar esquisito, parece esquisito, e dá a sensação de esquisito. Fico cismando durante a noite, também. Viemos de uma bela cidade.
— Era verde — disse ela. — Na primavera e no verão. E amarela e vermelha, no outono. E a nossa, era uma bela casa; nossa; era velha, oitenta e nove anos, mais ou menos. Eu costumava ouvir a casa falar à noite, cochichando. Toda a madeira seca, as cortinas, a varanda da frente, os batentes. Onde quer que você a tocasse, ela falava com você. Cada sala, de um modo diferente. E quando você fazia a casa inteira falar, era toda uma família à sua volta, pondo você para dormir. Nenhuma outra casa, como as que constroem hoje, pode ser a mesma. Muitas pessoas precisam passar e viver numa casa, para dar-lhe vida. Este lugar aqui, esta cabana, ela não sabe que eu estou dentro dela, não dá a menor importância que eu viva ou morra. Faz barulho de lata, e a lata é fria. Não tem porão onde pôr coisas de lado para o ano que vem, e o outro ano ainda. Não tem sótão, onde guardar coisas do ano passado, e de todos os anos antes de você ter nascido. Se apenas tivéssemos aqui algo do que era familiar, Bob, então teríamos lugar para tudo, o que é estranho. Mas quando tudo cada coisa é estranha, então leva para sempre, tornar as coisas familiares.
Ele concordou, no escuro. — Não há nada do que você disse, que eu já não tenha pensado.
Ela estava olhando para o luar, caindo sobre as malas, contra a parede. Ele viu a mão dela mover-se naquela direção.
— Carrie! — O quê?
Ele jogou as pernas para fora da cama. — Carrie, fiz uma coisa terrível, maluca. Todos estes meses eu ouvi você sonhando, assustada, e os meninos, à noite, e o vento, e Marte lá fora, o fundo dos mares e, tudo, e... — Ele parou e engoliu em seco. — Você precisa entender o que eu fiz e por que. Todo o dinheiro que tínhamos no banco, há um mês, todo o dinheiro que economizamos por dez anos, eu o gastei.
— Bob!
— Eu o joguei fora, Carrie, eu juro, eu o joguei fora em nada. Era para ser uma surpresa. Mas agora, esta noite, aí está você, e essas malditas malas no chão, e....
— Bob — disse ela, virando-se. — Quer dizer que passamos por tudo isto, aqui em Marte, guardando dinheiro a cada semana, apenas para que você o queimasse em umas poucas horas?
— Eu não sei — ele acabou respondendo. — Sou um doido. Olhe, não vai demorar até o sol nascer. Vamos acordar cedo. Vou levá-la para ver o que fiz. Não quero dizer-lhe, quero que você veja. E se não gostar, bem, sempre há aquelas malas, e o foguete para a Terra quatro meses por ano.
Ela não se moveu. — Bob, Bob — ela dizia.
— Não diga mais nada — pediu ele.
— Bob, Bob... — Ela abanava a cabeça devagar, não querendo acreditar. Ele afastou-se e deitou-se no seu lado da cama, e ela sentou-se do outro lado, olhando para onde estavam os lenços, e suas jóias, e roupas em pilhas bem feitas, onde as havia deixado. Lá fora, um vento da cor de luar acordava a poeira adormecida, e empoeirava o ar.
Por fim ela deitou-se, mas não disse nada mais, e era como um peso morto na cama, olhando pelo longo túnel da noite, para o mais fraco sinal da manhã.
Levantaram-se com as primeiras luzes, e moveram-se pela pequena cabana do acampamento, sem ruído. Era uma pantomima prolongada quase até uma hora em que alguém gritasse com o silêncio, enquanto o pai e a mãe, e os meninos se lavavam e se vestiam, e tomavam o desjejum, de torrada e suco de fruta e café, sem ninguém olhando diretamente para ninguém, e todos olhando para alguém, pelas superfícies refletoras da torradeira, dos vidros, ou dos talheres, onde todos os seus rostos estavam deformados e tornados terrivelmente estranhos, na hora matinal. Então, por fim, abriram a porta da cabana, e deixaram entrar o ar que soprava através dos frios mares azul esbranquiçados, onde só as marés de areia dissolviam-se e mudavam, fazendo figuras fantasmagóricas e saíram sob um céu frio, cru e fixo, e começaram sua caminhada rumo á cidade, que parecia nada mais que um cenário de cinema à frente deles, num vasto e vazio palco.
— Para que parte da cidade estamos indo? — perguntou Carrie.
— O depósito dos foguetes, antes de chegarmos lá, tenho muito para dizer.
Os garotos reduziram a marcha e iam atrás de seus pais, ouvindo. O pai olhava adiante, e nem uma vez, enquanto estava falando, olhou para sua mulher ou filhos, para ver como eles estavam recebendo tudo o que ele dizia.
— Acredito em Marte — ele começou, suavemente. — Creio que algum dia, pertencerá a nós. Vamos transformar isto. Vamos nos estabelecer aqui. Não vamos dar as costas e correr. Ocorreu-me, há um ano, logo depois de termos chegado. Por que viemos? Perguntava a mim mesmo. Porque, eu disse, ora, porque. É a mesma coisa com os salmões, todo ano. Os salmões não sabem por que vão para onde vão, mas vão, de qualquer maneira. Subindo os rios, eles não se lembram, contra a correnteza, saltando por quedas-d'água, mas finalmente conseguindo chegar aonde se multiplicam e morrem, e tudo começa de novo. Chame isso de memória racial, instinto, não chame de nada, mas está aí. E aqui estamos nós.
Andaram pela manhã silenciosa, com o grande céu olhando para eles e as estranhas areias azuis e branco-vapor deslizando por seus pés, na nova estrada.
— Assim, aqui estamos nós. E de Marte, para onde? Júpiter, Netuno, Plutão, e adiante? Isso mesmo. E assim por diante. Por quê? Algum dia o sol vai explodir como uma fornalha vazando. Bum! — Lá se vai a Terra. Mas talvez, Marte não seja atingido; ou se Marte for atingido, então talvez Plutão não o seja, ou se Plutão for atingido, então onde estaremos, isto é, os filhos de nossos filhos?
Ele olhou firme para cima, para aquela casca impecável do céu cor de ameixa.
Ora, estaremos em algum planeta, com um número, talvez; planeta 6 do sistema estelar 97; planeta 2 do sistema 99! Tão incrivelmente longe daqui que seria preciso um pesadelo para imaginar! Teremos ido, percebe, para longe, seguros! E eu pensei comigo mesmo, ah, ah; então é por isso que viemos para Marte, essa é a razão pela qual os homens lançam os seus foguetes.
— Bob...
— Deixe-me acabar; não, para fazer dinheiro, também. Não para ver as paisagens, não. Essas são as mentiras que os homens contam, as razões bonitinhas que arranjam para si mesmos. Fique rico, fique famoso, eles dizem. Divirta-se, pule por aí, dizem. Mas todo o tempo, lá dentro, algo mais está tiquetaqueando como nos salmões, ou baleias, e como, Senhor, mesmo no menor micróbio que você imaginar. E aquele relogiozinho que tiquetaqueia em tudo o que vive, sabe o que diz? Diz: vá embora, espalhe-se, mova-se, continue nadando. Corra para todos os mundos e construa tantas cidades, de modo que nada jamais possa aniquilar com o homem. Percebe, Carrie? Não é apenas virmos para Marte, é a raça, toda a maldita raça humana, dependendo de como nós nos sairmos, durante nossa vida. Isto é tão grande, que eu gostaria de rir, tamanho medo que me causa.
Ele sentiu os meninos andando constantemente atrás dele e ele sentiu Carne atrás dele, e ele desejou ver o rosto dela, e como ela estava reagindo a tudo isto, mas ele não quis olhar, ainda.
— Tudo isto não é diferente de quando papai e eu, passeando pelo campo em minha infância, semeando à mão, quando nossa semeadeira quebrou e não tínhamos dinheiro para consertá-la. E tinha que ser feito, de alguma forma, para a última colheita. Ora, Carrie, lembra-se, aqueles artigos de suplemento do jornal de domingo. A TERRA VAI CONGELAR EM UM MILHÃO DE ANOS! Quando era menino, chorei certa feita, lendo artigos como esses. Minha mãe perguntava por que. Estou chorando por todas aquelas pobres pessoas, no futuro, eu dizia. Não se preocupe com eles, mamãe respondia. Mas, Carrie, é tudo o que eu quero dizer; estamos nos preocupando com eles. Ou não estaríamos aqui. É importante que o Homem, com H maiúsculo, continue adiante. Não há nada melhor do que o Homem com H maiúsculo, em minha cartilha. Sou preconcebido, claro, porque pertenço a esta raça. Mas se há algum jeito de chegar àquela imortalidade da qual os homens estão sempre falando, é este o caminho: espalhem-se; semeiem o universo. Então você terá uma colheita, à prova de qualquer acidente. Não importa se a Terra sofrer a fome, ou se a praga vier. Você terá novos campos plantados em Vênus ou seja lá onde for que o homem chegue, nos próximos mil anos. Estou louco pela idéia, Carrie, louco. Quando finalmente atinei com ela, fiquei tão excitado que queria agarrar gente, você, os meninos, e dizer-lhes. Mas, bem, eu vi que não era necessário. Eu sabia que mais dia menos dia, vocês veriam, e ninguém precisaria dizer mais nada sobre isto. É uma grande coisa, Carrie, eu sei, e grandes pensares para um homem com pouco menos de um metro e sessenta, mas por tudo que é sagrado, é verdade.
Andavam pelas ruas desertas da cidade, e escutavam os ecos de suas passadas.
— E esta manhã? — disse Carrie.
— Vou chegar a esta manhã. — disse ele. — Parte de mim quer voltar para casa, também. Mas a outra parte diz que, se formos, tudo estará perdido. Então, eu pensei; o que nos incomoda mais? Algumas das coisas que tivemos. Algumas das coisas dos meninos, suas, minhas. E, eu pensei, se é preciso uma coisa velha para começar uma nova, ora, vou usar a coisa velha. Lembro-me dos livros de história, que há mil anos atrás, eles punham carvões num chifre de boi escavado, sopravam-nos durante o dia, de modo que carregavam o fogo em suas caminhadas de um lugar para outro, para reacender uma fogueira a cada noite, com as brasas que sobravam da manhã. Sempre uma fogueira nova, mas sempre com algo da velha, dentro. Assim sendo, considerei e pesei as coisas. O Velho vale todo o nosso dinheiro? Perguntei. Não! Só as coisas que fizemos com o Velho é que têm algum valor. Bem, então o Novo vale todo o nosso dinheiro? Perguntei. Você se sente disposto a investir no dia seguinte ao meio da semana seguinte? Sim! Eu disse. Se eu puder combater esta coisa que nos faz querer voltar para a Terra, eu jogaria meu dinheiro no querosene e acenderia um fósforo!
Carrie e os dois meninos não se moveram. Estavam parados na rua, olhando para ele como se ele fosse uma tempestade que passara por ali, quase arrancando-os do chão, uma tempestade que não estava amainando.
— O foguete de carga veio esta manhã — ele falou, calmo. — Nossa encomenda está nele. Vamos lá pegá-la.
Andaram devagar pelos três degraus, até o depósito dos foguetes, e através do chão, que ecoava, em direção à sala de carga, que estava abrindo suas portas deslizantes, abrindo para começar o dia.
— Fale-nos de novo sobre os salmões — pediu um dos meninos.
No meio da manhã quente, saíram da cidade numa caminhão alugado, cheio de grandes engradados e caixas e pacotes, de vários tamanhos, compridos, curtos, achatados, todos numerados e claramente endereçados a Robert Prentiss, Nova Toledo, Marte.
Pararam o caminhão perto da cabana e os meninos pularam e ajudaram sua mãe. Por um momento, Bob deixou-se ficar ao volante, e então devagar saiu, para andar e olhar a carga do caminhão.
E, por volta do meio-dia, todas as caixas, exceto uma, estavam abertas, e seu conteúdo colocado no fundo do mar, onde a família estava, no meio deles.
— Carrie...
E ele levou-a pelos velhos degraus da varanda, que agora estavam desempacotados na periferia da cidade.
— Ouça-os, Carrie.
Os degraus rangeram e murmuraram sob os pés.
— O que eles dizem, diga-me, o que eles dizem?
Ela ficou nos velhos degraus de madeira, segurando-se, e não podia falar-lhe.
Ele apontou. — Varanda da frente ali, sala de estar aqui, sala de jantar, cozinha, três quartos. A maior parte construiremos nova, em parte, mandaremos vir. Claro, tudo o que temos aqui são os degraus da frente, alguma mobília da sala, e a velha cama.
— Todo aquele dinheiro, Bob!
Ele voltou-se, sorrindo. — Você não enlouqueceu, não, olhe para mim! Não enlouqueceu, não. Vamos trazê-la no ano que vem, mais cinco anos! Os vasos entalhados, aquele tapete armênio que sua mãe lhe deu em 1975! Deixe o sol explodir!
Olharam para os outros engradados, com números e letras: balanço de varanda, cadeira de balanço de vime, pendentes chineses de cristal...
— Eu mesmo vou soprá-los para fazê-los tilintar.
E então, instalaram a porta da frente, com seus pequenos vidros coloridos, no topo da escada, a Carrie olhou pela janela cor de morango.
— O que vê?
Mas ele sabia o que ela via, pois ele também olhava pelo vidro colorido. E lá estava Marte, com seu céu frio, aquecido, e seus mares mortos, incendiados, com a cor, suas colinas, montículos de sorvete de morango, e sua areia como brasas sopradas pelo vento. A janela cor de morango, a janela cor de morango expirava suaves tons rosados sobre a terra e enchia a mente e os olhos com a luz de uma madrugada infinita. Inclinados ali, olhando, ele teve de dizer:
— A cidade terá chegado aqui, em um ano. Aqui, haverá uma rua arborizada, você vai ter a sua varanda e seus amigos. Não vai precisar de tanto, então. Mas começando com isto, com este pedacinho do que é familiar, ver isto crescer, ver Marte mudar, até se familiarizar com ele, como se o conhecesse a vida inteira.
Desceu a escada correndo, para a última caixa, ainda não aberta. Com sua faca de bolso cortou um buraco na tela que a envolvia. Adivinhe! — disse ele.
— Meu fogão? Minha máquina de costura?
— Nunca, nem num milhão de anos. — Sorriu. — Cante uma música.
— Bob, você está completamente doido.
— Cante-me uma música que valha todo o dinheiro que tínhamos no banco, e não temos mais, mas que faça o inferno tremer — ele disse.
— Não sei nenhuma, exceto — Doce Genoveva!
— Cante — ele insistiu.
Mas ela não conseguia abrir a boca e começar a cantar. Ele viu os lábios dela mover-se e tentar, mas não havia som.
Ele rasgou mais a tela, enfiou a mão no engradado e tateou um pouco, e começou a cantar ele mesmo, até que moveu a mão uma última vez e então uma clara nota de piano saltou ao ar da manhã.
— Pronto! Vamos cantar todos até o fim. Aqui está o tom...
A noite soprava pela grama curta do alagadiço; não havia qualquer outro movimento. Havia anos desde que algum pássaro voara pela grande concha cega do céu. Havia muito que uns poucos calhaus simularam vida, quando se esfacelaram e caíram em poeira. Agora apenas a noite movia-se nas almas dos dois homens curvados sobre sua fogueira solitária, no ermo; a escuridão bombeava mansamente em suas veias e pulsava, silente, em suas têmporas e em seus punhos.
A luz das chamas subia e descia por seus rostos rústicos e mergulhava por seus olhos em tiras alaranjadas. Ouviam a respiração fraca e gélida, um do outro, e o piscar reptiliano de suas pálpebras. Por fim, um deles atiçou o fogo, com sua espada.
— Não, imbecil; vais nos denunciar!
— Pouco importa — replicou, o segundo homem. — O dragão pode nos farejar a milhas de distância. Pelo sopro divino! Como faz frio! Quisera estar de volta ao castelo.
— É a morte, e não o sono, a nossa demanda...
— Por quê? Por quê? O dragão nunca penetrou na cidadela!
— Quieto, insensato! Ele devora homens que viajam sós, de nosso burgo para o próximo!
— Deixa-os serem devorados, e retornemos!
— Espera, agora! Atenta! Os dois homens gelaram.
Esperaram longamente, mas havia apenas o tremor da pele nervosa de seus cavalos, como tamborins de veludo negro, fazendo tilintar os arneses de prata, muito levemente.
— Ah — suspirou o segundo homem. — Que terra de pesadelos. Tudo acontece por aqui. Alguém apaga o sol; e é noite. E então, e então, ó doce mortalidade, escutai! Esse dragão, dizem que seus olhos são fogo. Seu hálito, um alvo gás; pode-se vê-lo, queimando atravessando a terra escura. Ele corre com enxofre e trovão, incendiando o mato. Os carneiros entram em pânico, e morrem, ensandecidos. As mulheres geram monstros. A fúria do dragão é tal que os muros das torres tremem, e caem, em pó. Suas vitimas, ao nascer do sol, estão espalhadas por todos os lugares, sobre as colinas. Quantos cavaleiros, pergunto, saíram ao encontro deste monstro, e falharam, assim como falharemos?
— Chega! Já basta!
— Mais do que bastante! Cá nesta desolação, nem sei em que ano estamos!
— Novecentos anos, depois da Natividade.
— Não, não — disse o outro, olhos fechados. — Neste pântano, não há Tempo, só o Sempre. Sinto que se corresse de volta para o burgo, ele não mais existiria, as pessoas sem nascer, coisas mudadas, os castelos sem serem cortados das rochas, as vigas não cortadas das florestas; não me perguntes como sei; o brejal sabe, e diz para mim. E aqui estamos nós dois, na terra do dragão de fogo, e valha-nos Deus!
— Se tens medo, cinge tua armadura!
— Para quê? O dragão surge do nada; não podemos adivinhar onde, a sua loca. Desvanece-se na neblina; não sabemos para onde vai. Sim, as armaduras, morreremos bem vestidos.
Ainda vestindo seu corselete, o segundo homem interrompeu-se, e virou a cabeça.
Através da região sombria, cheia de noite e do nada, do próprio coração do pantanal, o vento emergiu, cheio da areia de ampulhetas. Havia sóis negros queimando no cerne deste novo vento e um milhão de folhas queimadas caídas de alguma árvore outonal, além do horizonte. O vento derretia paisagens, estirava os ossos, como cera branca, espessando o sangue e enlodaçando, até formar um depósito de lama, no cérebro. O vento era mil almas morrendo e todo o tempo confusas, em trânsito. Era uma neblina dentro de uma nuvem, dentro de uma escuridão, e este lugar não pertencia ao homem, e não havia ano, ou hora, apenas esses homens, numa vacuidade sem rosto de súbita geada, tempestade e trovões brancos, deslocando-se por detrás do grande painel de vidro esverdeado da faísca. Uma pancada de chuva encharcou a turfa; tudo se dissipou até uma quietude sem respiração, e os dois homens, esperando, sozinhos, com o seu calor, numa estação fria...
— Dali — murmurou o primeiro homem, — Oh, ali...
A milhas de distância, com um grande cântico e rugidor o dragão.
Em silêncio, os dois vestiram suas armaduras e montaram em seus corcéis. A soledade da meia-noite foi rompida por resfolegar monstruoso, com o dragão rugindo mais perto; mais perto; seu olhar lampejante, amarelado lançou-se sobre uma elevação, e então, desenvolvendo seu negro corpo coleante, visto já à distância, indistinto, deslizou por aquela colina, e mergulhava, desaparecendo num vale.
— Depressa!
Espicaçavam seus cavalos para uma reentrância à frente
— É por aqui que se passa!
Agarraram suas lanças, com as manoplas, e desceram as viseiras de seus cavalos.
— Senhor!
— Sim! Invoquemos Seu nome!
Naquele instante, o dragão circundava uma colina. Seu olho ambarino descomunal focalizou-se neles, acendeu sua armadura com cintilações avermelhadas e lampejos. Com um terrível grito pungente, e numa investida avassaladora, lançou-se para frente.
— Misericórdia! Misericórdia!
A lança atingiu abaixo do olho sem pálpebras, entortou, e jogou o cavaleiro pelo ar. O dragão alcançou-o, derrubou-o, e esmagou-o, sob seu corpo. Passando, o impacto negro de seu ombro esmagou cavalo e cavaleiro remanescentes, por cem pés ao longo de um rochedo, e gritando, gritando e urrando, cercado de fogo, à volta, embaixo, um fogo solar rosado, amarelo, laranja, com grandes plumagens macias de fumo cegante.
— Você viu? — exclamou uma voz. — Exatamente como eu lhe disse!
— A mesma coisa! A mesma! Um cavaleiro de armadura, por Deus, Harry! Nós o pegamos!
— Não vai parar?
— Parei, uma vez, e não achei nada. Não gosto de parar neste brejo. Me dá medo. Sinto algo neste lugar.
— Mas batemos em algo!
— Apitei bastante; o cara nem se moveu!
Um apito fumegante cortou em dois a névoa.
— Chegaremos a Stokely na hora. Mais carvão, Fred?
Outro apito sacudiu o orvalho do céu vazio. 0 trem noturno, em fogo e fúria, disparou por uma depressão, subiu e desapareceu ao longe, por uma terra fria, rumo ao norte, deixando uma fumaça negra e vapor dissolvendo-se no ar sonolento, minutos depois de ter passado, e se afastado para sempre.
Amanhã será Natal, e mesmo enquanto os três se dirigiam para a porta do foguete, o pai e a mãe estavam apreensivos. Era o primeiro vôo espacial do menino, sua primeira vez num foguete, e queriam que tudo saísse perfeito. Então, quando, na alfândega, foram forçados a deixar para trás, que excedia o limite de peso, por apenas algumas onças, e a arvorezinha com as lindas velinhas, sentiram-se privados da época natalina e de seu amor.
O menino estava esperando por eles na sala do terminal. Dirigindo-se para ele, após seu mal sucedido embate contra os oficiais interplanetários, a mãe e o pai cochichavam um com o outro.
— Que faremos?
— Regras idiotas!
— E queria tanto a árvore!
A sirene foi acionada e as pessoas se juntaram na direção do foguete para Marte. A mãe e o pai foram por último, seu pequeno filho pálido entre eles, calado.
— Pensarei em algo — disse o pai.
— Quê...? — ia perguntando o menino.
E o foguete decolou e foram lançados de cabeça, no espaço.
O foguete partiu, deixando para trás o fogo e a Terra, onde a data era 24 de dezembro de 2052, indo para um lugar onde não havia tempo, nem mês, nem ano. nem hora. Dormiram, pelo resto do primeiro "dia". Perto da meia-noite, segundo o tempo da Terra, de Nova Iorque, o menino acordou e disse: — Quero ir olhar pela escotilha.
Havia só uma, uma "janela" de vidro extremamente espesso, razoavelmente grande, no convés superior.
— Ainda não — respondeu o pai. — Vou levá-lo depois.
— Quero ver onde estamos, e para onde estamos indo.
— Quero que você espere por uma razão — explicou o pai. Ele estivera acordado, virando-se para um lado e para outro, pensando no presente deixado para trás, o problema do Natal, a árvore perdida, e as velinhas brancas. E por fim, sentando-se, havia não mais do que cinco minutos, pensou ter descoberto uma saída. Precisava apenas executar a idéia, e esta viagem seria ótima, e alegre.
— Filho, em exatamente meia hora será Natal.
— Mas... — disse a mãe, desanimada, por ele ter mencionado isso. De algum modo, ela esperava que o menino esquecesse.
O rosto da criança animou-se e seus lábios tremeram. — Eu sei, eu sei. Vou ganhar um presente, não? Vou ter uma árvore? Você prometeu...
— Sim, sim, tudo isso, e mais — acalmou o pai. A mãe começou a falar. — Mas...
— Estou falando sério; de fato, estou. E tudo, e mais, muito mais. Com licença, agora, volto logo.
Deixou-o, por uns vinte minutos. Quando voltou, estava sorrindo. — Está quase na hora.
— Posso segurar seu relógio? — perguntou o menino, e o relógio lhe foi entregue, e ele o segurou, tiquetaqueando entre seus dedos, enquanto o resto da hora passava, em fogo e silêncio, e movimento imperceptível.
— É Natal agora! Natal! Onde está meu presente?
— Lá vamos nós — e o pai levou seu filho, tomando-o pelos ombros, saindo do quarto, pelo hall, e por uma rampa, seguidos pela mãe.
— Não estou compreendendo — ela repetia.
— Você vai compreender logo — dizia o pai.
Pararam à porta fechada de uma grande cabine. O pai bateu três vezes e então duas, num código. A porta abriu-se e a luz da cabine foi apagada, e ouviu-se um murmúrio de vozes.
— Entre, filho.
— Está escuro.
— Eu seguro sua mão. Vamos, mamãe.
Entraram na sala, e a porta fechou-se, e a sala estava realmente muito escura. E à frente deles, postava-se um grande olho de vidro, a escotilha, uma janela de quatro pés de altura, e seis pés de largura, de onde eles podiam olhar para o espaço.
O menino perdeu o fôlego.
Atrás dele, o pai e a mãe também estavam assombrados, e então, na sala escura, algumas pessoas começaram a cantar.
— Feliz Natal, filho — disse o pai.
E as vozes na sala cantavam as velhas e familiares canções, e o garoto adiantou-se, lentamente, até que seu rosto estava comprimido contra o frio vidro da escotilha. E ficou lá, longamente, apenas olhando e olhando para o espaço, e para a noite profunda, para os bilhões e bilhões de velinhas brancas, queimando e queimando...
Durante a noite, Sim nasceu. Estava deitado, chorando, nas frias pedras da caverna. Seu sangue percorria seu corpo a mil pulsos por minuto. Crescia, constantemente.
Em sua boca, sua mãe com mãos febris, punha comida. O pesadelo de viver começara. Quase imediatamente após nascer, seus olhos estavam alertas, e então, sem nem entender por que, cheios de um brilhante e insistente terror. Engasgou com a comida, sufocou e chorou. Olhou em volta, cegamente.
Havia uma névoa espessa. Dissipou-se. A caverna começou a delinear-se. E um homem assomava, insano, selvagem e terrível. Um homem com um rosto moribundo. Velho, desgastado pelo vento, cozido como adobe ao calor. O homem estava agachado num canto afastado da caverna, olhos embranquecendo de um lado da seu rosto, escutando o vento distante trombeteando mais acima na noite gelada do planeta.
A mãe de Sim, tremendo, vez ou outra, olhando para o homem, alimentava Sim com frutas-calhau, graminhas do vale e pedaços de gelo quebrados da entrada da caverna, e comendo, eliminando, comendo de novo, ele crescia, aumentava de tamanho.
O homem, no canto da caverna, era seu pai! Os olhos dele eram tudo o que tinha vida em sua face. Tinha um rústico punhal de pedra em suas mãos enrugadas e sua mandíbula pendia frouxa a esmo.
Então, aumentado o campo de visão, Sim viu os velhos sentados no túnel além de seus aposentos. E enquanto ele olhava, começaram a morrer.
Suas agonias enchiam a caverna. Derretiam como imagens de cera, rostos desabando para dentro, sobre seus ossos agudos, seus dentes protundindo. Num minuto, seus rostos estavam maduros, suaves, vivos, elétricos. No minuto seguinte, uma dessecação e consumação de sua carne acontecia.
Sim lançou-se ao colo de sua mãe. Ela o segurou. — Não; não — ela o acalmava, calma, séria, olhando para ver se isto fazia seu marido erguer-se.
Com o ruído suave de pés descalços, o pai de Sim correu, cruzando a caverna. A mãe de Sim gritou. Sim sentiu-se arrancado dos braços dela. Caiu nas pedras, rolando, berrando com seus pulmões novos, úmidos!
O rosto extremamente enrugado de seu pai surgiu sobre ele, com a faca em posição. Era como um daqueles pesadelos pré-natais que ele tivera repentinamente, enquanto ainda estava na carne de sua mãe. Nos próximos poucos relampejantes, impossíveis instantes, perguntas perpassavam por sua cabeça. A faca estava alta, suspensa, pronta para destruí-lo. Mas toda a questão da vida, nesta caverna, as pessoas morrendo, a decrepitude e a insanidade, emergiam na nova e pequena cabeça de Sim. Como tinha ele compreendido? Uma criança recém-nascida? Um recém-nascido pode pensar, ver, compreender, interpretar? Não. Estava errado! Era impossível. No entanto, estava acontecendo! Com ele. Já tinha vivido uma hora, agora. E no instante seguinte, talvez morto!
Sua mãe lançou-se às costas de seu pai, e arrebatou-lhe a arma. Sim captou o terrível entrechoque das emoções, de ambas as mentes conflitantes. — Deixe-me matá-lo! — gritava o pai, respirando pesado, soluçando. — Por que ele têm de viver?
— Não, não! — insistia a mãe, e seu corpo, frágil e velho, estendia-se através do grande corpo do pai, segurando sua arma. — Ele precisa viver! Pode haver um futuro para ele! Ele pode viver mais do que nós e ser jovem!
O pai deixou-se cair contra um berço de pedra. Lá dentro, olhando, com olhos brilhantes, Sim viu outro vulto. Uma menina, alimentando-se quietamente, mexendo suas mãos delicadas, manipulando a comida. Sua irmã.
A mãe jogou o punhal para longe do alcance do pai, ergueu-se, chorando e afastando sua nuvem de cabelo cinza, quebradiço. Sua boca tremeu, num esgar. — Vou matá-lo! — disse, fixando o marido. — Deixe minhas crianças em paz!
O velho cuspiu, cansado, amargurado, e olhou vaziamente para o berço de pedra, para a menina. — Já se passou um oitavo da vida dela, e ela nem sabe disso. Para quê?
Enquanto Sim olhava, sua própria mãe parecia mudar, e tomar uma forma contorcida, como fumaça. O fino rosto ossudo quebrou-se num emaranhado de rugas. Ela foi abalada com a dor e teve de sentar-se a seu lado, tremendo e segurando a faca contra seu peito envelhecido. Ela, como os velhos no túnel, estava envelhecendo, e morrendo.
Sim chorava, continuamente. Por onde olhasse, o terror. Uma mente veio ao encontro da sua. Instintivamente, olhou para o berço. Dark, sua irmã, retribuindo-lhe o olhar. Suas mentes roçaram como dedos que se estendiam. Relaxou um pouco. Começou a aprender.
O pai suspirou, fechou as pálpebras sobre seus olhos verdes. — Alimente a criança — ele disse, exausto. — Depressa. É quase madrugada, e nosso último dia de vida, mulher. Alimente-o; faça-o crescer.
Sim aquietou-se, e imagens, surgidas do medo, flutuaram para ele.
Este era um planeta próximo do sol. As noites queimavam com o frio, os dias eram tochas de fogo. Era um mundo violento, impossível. As pessoas viviam nos rochedos, para escapar ao gelo incrível, e ao dia flamejante. Apenas de madrugada, e ao pôr-do-sol, o ar era respirável e perfumado, e então o povo das cavernas levava suas crianças a um vale estéril, pedregoso. De madrugada, o gelo derretia, formando riachos e rios, ao pôr-do-sol o fogo do dia morria e arrefecia. Nos intervalos de temperaturas regulares e toleráveis, o povo vivia, brincava, amava, livre das cavernas; toda a vida do planeta saltava, explodia de vida. As plantas cresciam instantaneamente, os pássaros disparavam como balas pelo céu. Vida animal menor, com pernas, corria freneticamente por entre as pedras; tudo tentava viver na breve hora da trégua.
Era um planeta insuportável. Sim entendia isto, já em questão de horas depois de nascer. A memória racial desdobrava-se nele. Ele viveria sempre nas cavernas, com duas horas por dia, fora. Aqui, em canais de pedra, de ar, ele conversaria, conversaria incessantemente com sua gente, sem dormir, pensar, pensar, e deitar-se, sonhando; mas dormir, nunca.
E ele viveria exatamente oito dias.
A violência deste pensamento! Oito dias. Oito curtos dias. Estava errado, impossível, mas um fato. Mesmo enquanto na carne de sua mãe, algum conhecimento racial de alguma estranha voz distante dissera-lhe que ele estava sendo formado rapidamente, formado e expelido rapidamente.
O nascimento era rápido como uma facada. A infância era um lampejo. A adolescência era um clarão de relâmpago. A idade adulta era um sonho; maturidade, um mito; a velhice, uma inescapável veloz realidade, e a morte, uma pronta certeza.
Daqui a oito dias, ele estaria meio cego, decrépito, morrendo, como seu pai, agora, olhando, inutilmente, para sua mulher e filho.
Este dia era um oitavo do total de sua vida! Ele precisava aproveitar cada segundo. Precisava sondar os pensamentos de seus pais, para aprender.
Porque em algumas horas eles estariam mortos.
Isto era tão impossivelmente injusto. A vida era apenas isto? Em seu estado pré-natal, ele não tinha sonhado com longas vidas, vales, não de pedra calcinada, mas de folhagens verdes e clima temperado? Sim! E se ele tinha sonhado, deveria haver alguma verdade nas visões. Como ele poderia procurar e achar a longa vida? Onde? E como ele poderia cumprir a missão de uma vida tão imensa e avassaladora, em oito curtos e esvanescentes dias?
Como seu povo tinha chegado a tal condição?
Como se apertasse um botão, ele viu uma imagem. Sementes de metal, sopradas pelo espaço, de um distante mundo verde, lutando contra longas chamas, caindo neste planeta deserto. De seus cascos arrebentados saíam, vacilando, homens e mulheres.
Quando? Muito, muito tempo. Dez mil dias. As vítimas do acidente esconderam-se do sol, nos rochedos. O fogo, o gelo e as inundações levaram os restos das grandes sementes de metal. As vítimas foram moldadas e malhadas, como numa forja. As radiações solares os embeberam. Seus pulsos aceleraram, duzentas, quinhentas, mil pulsações por minuto. Suas peles espessaram-se, seu sangue mudou. A velhice veio, correndo. As crianças nasciam em cavernas. Mais rápido, mais rápido, o processo. Como toda a vida deste mundo, os homens e as mulheres do acidente viviam e morriam numa semana, deixando crianças para fazer o mesmo.
Assim, esta é a vida, pensou Sim. Não era falado, em sua mente, pois ele não conhecia palavras, conhecia só imagens, memória, um alerta, uma telepatia que podia penetrar na carne, rocha, metal. Em algum ponto de sua linhagem, eles desenvolveram a telepatia, e a memória racial, os únicos dons, a única esperança, neste terror. Assim, pensou Sim, sou o cinco milésimo, numa longa linhagem de filhos inúteis? Que posso fazer para me salvar de morrer em oito dias? Há escapatória?
Seus olhos arregalaram-se, e outra imagem foi focalizada.
Além deste vale de rochedos, numa montanha baixa, há uma perfeita semente de metal, intacta. Uma nave metálica, sem enferrujar-se, nem tocada pelas avalanches. A nave estava deserta, inteira, perfeita. Era a única nave, das que haviam caído, que ainda era uma unidade, ainda usável. Mas estava tão longe. Ninguém podia fazer nada. A nave, então, na montanha distante, era o destino rumo ao qual ele cresceria. Ali estava sua única esperança de escapar.
Sua mente flexionou-se.
Neste rochedo, no fundo, num confinamento solitário, trabalhava um punhado de cientistas. A estes homens, quando ele fosse velho e experiente o bastante, é que devia dirigir-se. Eles também, sonhavam com escapar, viver longamente, com vales verdes e climas temperados. Eles também olhavam, desejosos, para aquela nave distante sobre a montanha inacessível, seu metal tão perfeito que não envelhecia, nem enferrujava.
O rochedo gemeu.
O pai de Sim ergueu sua face erodida, sem vida..
— A madrugada está chegando — disse.
A manhã relaxou os poderosos músculos do rochedo de granito. Era hora da Avalanche.
Os túneis ecoaram com pés descalços correndo. Adultos, crianças, empurravam-se com olhos famintos e ansiosos para a madrugada lá fora. De longe, Sim ouviu um rumor de rochas, um grito, um silêncio. Avalanches caíam no vale. Pedras que estiveram hesitando, sem estar prontas para cair, por um milhão de anos, soltaram seu peso e, começando sua carreira como grandes pedras, esmagavam-se no chão do vale em mil pedregulhos e pelotas moldadas pelo atrito.
Toda manhã, pelo menos uma pessoa era apanhada no chuveiro.
O povo do rochedo desafiava as avalanches. Acrescentava mais excitação às suas vidas, já muito curtas, precipitadas, perigosas.
Sim sentiu-se agarrado por seu pai. Foi carregado bruscamente pelo túnel, por umas mil jardas, para onde aparecia a luz do dia. Havia um brilho insano nos olhos de seu pai. Sim não podia mover-se. Percebeu o que estava para acontecer. Atrás de seu pai, apressava-se sua mãe, levando com ela a irmãzinha, Dark. — Espere! Tome cuidado! — ela gritava para o marido.
Sim sentiu seu pai agachar-se, escutando.
No alto do rochedo, um tremor, um pequeno abalo.
— Agora! — gritou seu pai, e pulou. Uma avalanche veio sobre eles!
Sim teve impressões aceleradas de muros caindo, poeira, confusão. Sua mãe gritava! Houve um salto, um mergulho.
Com um último passo, o pai de Sim empurrou-o para o dia. A avalanche trovejava, atrás dele. A boca da caverna, onde mamãe e Dark estavam, fora de perigo, estava tampada com cascalho e dois rochedos de cem libras, cada.
A tempestade e os trovões da avalanche passaram, num fio de areia. O pai de Sim pôs-se a rir. — Conseguimos! Pelos deuses! E saímos vivos! — E olhou com desprezo para o rochedo e cuspiu. — Pagh!
Mamãe, a irmã e Dark saíam por entre o cascalho. — Louco! Poderia ter matado Sim!
— E ainda posso — retorquiu o pai.
Sim não estava escutando. Estava fascinado com os restos da avalanche à frente do túnel seguinte. Sangue escorria de sob uma pilha de rochedos, empapando o chão. Não havia mais nada para ser visto. Alguém havia perdido o jogo.
Dark corria à frente com pés ágeis, jovens, seguros.
O ar do vale era como vinho filtrado entre as montanhas. O céu era de um azul pacífico; não a pálida atmosfera abrasadora do dia pleno, nem o púrpura escuro, queimado, da noite, coalhado de estrelas, que brilhavam doentiamente.
Aqui era uma área de maré. Um lugar onde ondas de diversas temperaturas violentamente diferentes se chocavam. Agora, o lugar estava calmo, fresco, e sua vida começava a se mover.
Risos! Mais ao longe, Sim escutou. Por que risos? Como alguém de seu povo podia achar tempo para risos? Talvez mais tarde, descobrisse por que.
O vale subitamente tomou o impulso das cores. Vida vegetal, compondo-se na madrugada precipitada, brotava dos locais mais inesperados. Florescia a olhos vistos. Brotos verde-pálidos apareciam nas pedras nuas. Segundos depois, esferas maduras de frutos retorciam-se na folhagem. Papai deu Sim para a mãe, e colheu o fruto momentâneo, volátil, jogando frutas escarlates, azuis e amarelas num saco de peles pendurado à sua cintura. A mãe arrancava a grama nova, úmida e punha-as sobre a língua de Sim.
Seus sentidos estavam se aguçando. Armazenava conhecimento, sedento. Entendia o casamento, amor, costumes, raiva, piedade, ódio, egoísmo, nuances e sutilezas, realidades e reflexões. Uma coisa sugeria a outra. A visão da vida vegetal verde fez sua mente girar como um giroscópio, procurando equilíbrio num mundo onde falta tempo para explicações fazia uma mente pesquisar e interpretar por conta própria. A carga suave da comida deu-lhe conhecimento de seu sistema, da energia, do movimento. Como uma ave, quando rompe a casca de seu ovo, ele era quase uma unidade, completo, sabendo tudo o que precisava. A hereditariedade e a telepatia que se nutria de cada mente, cada vento, tinha feito tudo isto por ele. Ficou excitado com esta capacidade.
Caminharam, pai, mãe e as duas crianças, cheirando os aromas, olhando as aves pularem de uma parede para outra, do vale, como calhaus, e de repente, o pai disse uma coisa esquisita:
— Lembra-se?
Lembrar-se do quê? Sim estava sendo carregado. Seria um esforço para eles lembrar-se, quando tinham vivido apenas sete dias?
O marido e a mulher olharam-se.
Foi só há três dias? — disse a mulher, seu corpo tremendo, olhos fechando, para pensar. — Não posso acreditar. É tão injusto. — Ela soluçou, e então passou a mão por seu rosto, e mordeu seus lábios enrugados. O vento brincava com seu cabelo grisalho. — Agora é minha vez de chorar. Há uma hora, era você!
— Uma hora, é meia vida.
— Venha — ela tomou o braço de seu marido. — Vamos olhar tudo, porque para nós, é a última, vez.
— O sol estará alto em poucos minutos — disse o velho. — Precisamos voltar, agora.
— Mais um pouquinho só — pediu a mulher.
— O sol vai nos pegar.
— Pois que nos pegue!
— Não está falando sério.
— Não falo nada sério, nunca, nada — e ela chorava.
O sol estava se intensificando depressa. O verde no vale, queimou-se. Um vento destruidor soprou por sobre os rochedos. Lá, onde os rebites do sol martelavam edifícios de pedra, as grandes faces de pedra sacudiram seu conteúdo; aquelas avalanches ainda não pulverizadas com a queda, eram agora liberadas e caíam como mantos.
— Dark! — gritou o pai. A menina pulou no chão quente do vale, respondendo, seu cabelo uma bandeira negra, atrás dela. Mãos cheias de frutos verdes, ela juntou-se a eles.
O sol bordejava o horizonte; chamejante, e o ar convulsionava-se perigosamente com ele, e assobiava.
O povo da caverna pulou, gritando, agarrando suas crianças que caíam, levando grandes cargas de frutos e mato com eles de volta para seus esconderijos profundos. Em minutos, o vale estava deserto. Exceto por uma criança pequena que alguém esquecera. Estava correndo ao largo, no plano, mas não teria força suficiente, e o calor assoberbante estava descendo pelas falésias enquanto ainda estava a meio caminho.
As flores foram consumidas, o mato aspirado de volta às pedras como serpentes encantadas. Sementes de flores volteavam e caíam, ao repentino calor da fornalha do vento, entranhando-se em frestas e buracos, prontas para brotarem ao pôr-do-sol, florescerem e morrerem de novo.
O pai de Sim olhava aquela criança correndo, só, pelo chão do vale. Ele e sua esposa, Dark e Sim estavam seguros, na boca de seu túnel.
— Nunca vai conseguir — disse o pai. — Não olhe, mulher. Não é uma coisa bonita de se ver.
Deram as costas. Todos exceto Sim, cujos olhos haviam captado uma cintilação de metal, bem longe. Seu coração acelerou, e seus olhos se embaçaram. Em cima de uma montanha baixa, uma daquelas sementes de metal refletia uma cegante ondulação luminosa! Era como o cumprimento de um de seus sonhos intra-embrionários! Uma semente de metal do espaço, intacta, não danificada, pousada sobre uma montanha! Ali estava o seu futuro! Ali estava sua esperança de sobrevivência! Ali estava para onde iria, em alguns dias, quando fosse; estranho pensamento: um homem feito!
O sol mergulhou no vale, como lava derretida.
A criancinha que corria gritou, o sol queimava, e o grito parou.
A mãe de Sim andava com grande dificuldade, com o envelhecimento, pausou, ergueu a mão, quebrou dois últimos pedaços de gelo formados durante a noite. Estendeu outro para seu marido, e ficou com um. — Beberemos um último brinde. A você, e às crianças.
— A você — dirigiu-se a ela. — Às crianças. — Ergueram os pedaços de gelo. O calor derreteu o gelo em suas bocas sedentas.
Todo o dia o sol parecia abrasar e estourar o vale. Sim não podia vê-lo, mas as imagens vividas nas mentes de seus pais eram evidência suficiente da natureza do fogo do dia. A luz escorria como mercúrio, tostando e assando as cavernas, tentando, mas nunca penetrando bastante. Iluminava as cavernas. Fazia as reentrâncias das falésias razoavelmente quentes.
Sim lutava para manter seus pais jovens. Mas por mais que lutasse, com a mente e com a imagem, tornavam-se como múmias, à frente dele. Seu pai parecia dissolver-se de um estágio de decadência para o seguinte. Isto é o que logo vai acontecer comigo, pensava Sim, aterrorizado.
Sim cresceu. Sentia os movimentos digestivo-eliminatórios de seu corpo. Era alimentado a cada minuto, estava continuamente engolindo, comendo. Começou a adaptar palavras a imagens e processos. Essa palavra era amor. Não era uma abstração, mas um processo, um tremor da. respiração, um cheiro de ar matinal, um vacilar do coração, a curva de um braço segurando-o, o olhar no rosto ansioso de sua mãe. Ele viu os processos, então procurou, além daquele rosto ansioso e ali estava a palavra, em seu cérebro, pronta para usar. Sua garganta preparou-se para falar. A vida o empurrava, empurrando rumo ao esquecimento.
Sentiu a expansão de suas unhas, o ajuste de suas células, a profusão de cabelos, a multiplicação de seus ossos e músculos, o estria-mento da cera macia de seu cérebro. Seu cérebro, quando nascera, era liso como um círculo de gelo, inocente, sem marcas, era, um instante depois, como se atingido por uma rocha, rachado e marcado e desenhado com um milhão de rachaduras e pensamento e descoberta.
Sua irmã, Dark, corria para cá e para lá, com outras crianças da estufa, sempre comendo. Sua mãe tremia, acima dele, sem comer, não tinha apetite, seus olhos estavam cerrados.
— Ocaso — falou seu pai, por fim.
O dia acabara. A luz apagava-se, ouvia-se o vento. Sua mãe ergueu-se. — Quero ver o mundo exterior uma vez mais... só mais uma vez... — Ela tinha o olhar vago, e tremia.
Os olhos de seu pai estavam fechados, apoiado contra a parede.
— Não posso levantar-me — falou fracamente — não posso.
— Dark! — disse a mãe, com voz esganiçada, e Sim foi entregue à garota. — Segure Sim, Dark, alimente-o, cuide dele. — Acariciou Sim uma última vez.
Dark não disse palavra, segurando Sim, seus grandes olhos verdes brilhando, úmidos.
— Vá agora — disse a mãe, — leve-o, na hora do ocaso. Divirtam-se. Peguem comida, comam. Brinquem.
Dark afastou-se, sem olhar para trás. Sim virou-se, olhando por sobre os ombros da irmã, com um olhar trágico, não acreditando. Gritou e de algum jeito arrancou de sua boca a primeira palavra de sua existência:
— Por quê?
Viu sua mãe enrijecendo. — A criança falou!
— Sim — respondeu o pai. — Ouviu o que disse?
— Ouvi —disse a mãe, calma.
A última coisa que Sim viu de seus pais vivos, foi sua mãe, arrastando-se pelo chão, fraca, oscilando, devagar colocando-se ao lado de seu marido, no chão, que estava em silêncio. Essa foi a última vez que os viu mo vendo-se.
Veio a noite, que passou, e então começou o segundo dia.
Os corpos de todos aqueles que haviam morrido durante a noite foram carregados, numa procissão funeral ao topo de uma pequena colina. A procissão era longa; os corpos, numerosos.
Dark ia na procissão, segurando Sim, que há pouco aprendera a andar, pela mão. Uma hora antes da madrugada, Sim aprendera a andar.
No cimo da colina, Sim viu de novo a longínqua semente de metal. Ninguém olhava para ela ou falava dela. Por quê? Haveria alguma razão? Era uma miragem? Por que não corriam para ela? Venerá-la? Tentar sair e voar para o espaço?
As palavras do funeral foram ditas. Os corpos foram dispostos no chão, onde o sol, em poucos minutos, os cremaria.
A procissão retornou e correu colina abaixo, ansiosa para ter seus poucos minutos para correr e brincar e rir, ao ar ameno.
Dark e Sim, papagueando como pássaros, comendo, por entre as rochas, conversavam sobre o que sabiam da vida. Ele estava em seu segundo dia, ela no terceiro. Eram impelidos, como sempre, pela velocidade mercurial de suas vidas.
Outro pedaço de suas vidas abriu-se às escâncaras.
Cinqüenta rapazes desceram correndo pelos rochedos, segurando pedras afiadas e punhais de pedra em suas mãos grossas. Ululando, distanciaram-se rumo a uma linha escura, de rochas pequenas.
— Guerra!
A idéia estacionara no cérebro de Sim. Chocou-o e agrediu-o. Estes homens estavam correndo para lutar, matar, lá naqueles rochedos escuros, onde outras pessoas viviam.
Mas, por quê? A vida já não era bastante curta sem lutas, sem homicídios?
De uma grande distância, escutou o som do conflito, que esfriou seu estômago. — Por que, Dark; por quê?
Dark não sabia. Talvez entendessem, amanhã. Agora, havia a ocupação de comer para sustentar e continuar suas vidas. Olhar para Dark era olhar para um lagarto, sempre com a sua língua rosada ativa, sempre com fome.
Crianças pálidas corriam a seus lados. Um menino com aspecto de um besouro escalou as pedras, empurrando Sim para o lado, para tirar dele uma amora vermelha particularmente apetitosa que ele encontrara.
A criança comeu apressadamente a fruta antes que Sim pudesse se levantar. Então Sim saiu correndo, desequilibrado, e os dois caíram, ridiculamente, um sobre o outro, rolando, até que Dark separou-os, aos gritos.
Sim estava sangrando. Uma parte dele punha-se à parte, como um deus, e dizia: — Isto não devia ser assim. Crianças não deveriam ser assim. Está errado!
Dark esbofeteou o intruso, e afastou-o. — Suma-se! Como se chama, malcriado?
— Quíon! — disse o menino, rindo-se, — Quíon, Quíon, Quíon!
Sim fitou-o com toda a ferocidade em seu corpo pequeno, disforme. Sufocou. Isso era um inimigo. Era como se ele esperasse por um inimigo pessoal, assim como um da natureza. Ela já tinha compreendido as avalanches, o calor, o frio, a brevidade da vida, mas eram coisas dos lugares, do cenário; mudas, extravagantes manifestações de uma natureza irracional, não motivadas, exceto pela gravitação e radiação. Aqui, agora, nesse estrídulo Quíon, reconhecia um inimigo racional!
Quíon afastou-se, voltou-se, desafiador:
— Amanhã eu serei grande o bastante para matar você!
Mais crianças correram, rindo, por Sim. Qual deles seria amigo, ou inimigo? Como poderia haver amigos e inimigos nesta vida rápida e impossível? Não havia tempo para se fazer um ou outro, havia?
Dark, sabendo de seus pensamentos, levou-o consigo. Enquanto procuravam comida, ela murmurou, compenetrada, em seu ouvido: — Inimigos se fazem por coisas assim como comida roubada; presentes de mato comprido, fazem amigos. Os inimigos vêm, também de opiniões e idéias. Em cinco minutos, você faz um inimigo de uma vida. A vida é tão curta, que se precisa fazer inimigos depressa. — E ela riu-se de uma ironia tão estranha para quem era tão jovem, e que estava amadurecendo antes da hora. — Você deve lutar para se proteger. Outros supersticiosos tentarão matá-lo. Há uma crendice ridícula, que se alguém mata alguém, o matador compartilha da energia da vida retirada, e viverá mais um dia. Percebe? Enquanto se acreditar nisso, você está em perigo.
Mas Sim não escutava. Surgindo de um bando de meninas delicadas, que amanhã seriam altas, mais calmas, e que dia após dia teriam formas mais acentuadas e no dia seguinte tomariam maridos, Sim entreviu uma garotinha cujo cabelo era uma chama azul violáceo.
Ela correu, e passou por perto, esbarrando em Sim. Os olhos dela, brancos como moedas de prata, rebrilharam para ele. Ele soube então que encontrara uma amiga, um amor, uma esposa, que daqui a uma semana estaria com ele sobre a pira funeral, enquanto a luz do sol despiria suas carnes dos ossos.
Apenas um olhar, mas imobilizou-os por um átomo, em meio ao movimento.
— Seu nome? — ele gritou, atrás dela.
— Lyte! — ela respondeu, rindo.
— Sou Sim! — ele respondeu, confuso e surpreso.
— Sim! — ela repetiu, sem parar — lembrarei!
Dark cutucou suas costelas. — Tome, coma! — disse ao menino distraído. — Coma, ou nunca vai crescer o bastante para apanhá-la.
De algum lugar, apareceu Quíon, correndo. — Lyte! — ele caçoava, dançando malevolamente, ao passar, — Lyte! Vou lembrar-me de Lyte, também!
Dark levantou-se, alta e esguia com um junco, balançando suas nuvens de ébano de cabelo negro, triste. — Vejo sua vida futura, pequeno Sim. Logo vai precisar de armas para lutar pela pequena Lyte. Agora depressa, que o sol já vem!'
Correram de volta às cavernas.
Um quarto de sua vida já passara! A infância tinha passado. Era agora um rapaz! Chuvas violentas castigavam o vale, ao cair da noite. Olhou os novos sulcos cortados no vale pela água, e pela montanha da semente de metal. Armazenou este conhecimento para posterior uso. Cada noite, havia um novo rio, um leito recém-escavado.
— O que há além do vale? — imaginava Sim.
— Ninguém jamais foi lá — explicava Dark — todos que tentaram atingir a planície morreram congelados, ou queimados. A única terra que conhecemos é a que fica a meia hora de corrida. Meia hora para ir, e meia hora para voltar.
— Ninguém jamais chegou à semente de metal, então?
Dark escarneceu. — Os cientistas; eles tentam. Loucos idiotas. Não sabem desistir. Não adianta; é muito longe.
Os Cientistas. A palavra o agitou. Ele quase esquecera a visão que tivera momentos antes e depois do nascimento. Sua voz tornou-se ansiosa. — Onde estão os Cientistas?
Dark desviou o olhar dele. — Não lhe diria, se soubesse. Eles o matariam, experimentando! Não quero que você se junte a eles! Vi va sua vida, não a corte pela metade, tentando alcançar aquela coisa metálica imbecil na montanha.
— Eu descobrirei onde eles estão com alguém mais, então!
— Ninguém vai lhe dizer! Eles odeiam os Cientistas. Vai ter de encontrá-los sozinho. E então, o quê? Vai salvar-nos? Sim, salve-nos, menininho! — O rosto dela parecia cansado; já metade da vida dela tinha passado.
— Não podemos simplesmente nos sentarmos aqui, e conversar, e comer — ele protestou. — E nada mais. — Ele ergueu-se depressa.
— Vá encontrá-los! — ela retorquiu acidamente. — Eles vão ajudá-lo a esquecer. Sim; sim — ela cuspiu as palavras. — Esqueça que sua vida acabará em mais alguns dias!
Sim correu pelos túneis, procurando. Às vezes ele quase conseguia lembrar-se de onde estavam os Cientistas. Mas então uma inundação de pensamentos irados dos que o rodeavam, quando ele perguntava onde era a caverna dos Cientistas, o confundia com o ressentimento. Afinal, era por culpa dos Cientistas que eles haviam sido jogados neste mundo terrível! Sim esquivou-se sob o bombardeio de insultos e pragas.
Calmamente, tomou assento numa câmara central para ouvir com as crianças, os homens crescidos. Era o tempo da educação, o Tempo de Conversar. Não importava quanto se entediasse com o atraso, ou quanta fosse a sua impaciência, mesmo que a vida escorregasse para longe como um meteoro negro, ele sabia que sua mente precisava de conhecimento. Esta noite, então, era a noite da escola. Mas ele não conseguia ficar quieto. Apenas mais cinco dias de vida.
Quíon sentou-se ao lado de Sim, sua boca fina, arrogante.
Lyte apareceu e sentou-se entre eles. As duas últimas horas aprumaram-na, estava mais delicada, mais alta. Seu cabelo brilhava. Sorriu para Sim, ao sentar-se ao lado dele, ignorando Quíon. E Quíon enrijeceu-se, com isto, e parou de comer.
O diálogo crepitava, enchia o lugar. Velozes como as batidas do coração, mil, duas mil palavras por minuto. Sim aprendia, a cabeça cheia. Não fechava os olhos, mas caía numa espécie de sonho que era quase intra-embriônico, em sua lassidão e sonolenta vividez. Num fraco segundo plano, as palavras eram faladas, e teciam uma tapeçaria de conhecimentos em sua cabeça.
Sonhou com prados verdes, livres de pedras, todos grama, curvando-se, rolando e correndo rumo à madrugada sem sinal de congelamento, frio e impiedoso ou cheiro de rochas em brasa, ou monumento chamuscado. Andava pela pradaria verde. Acima, as sementes de metal voavam por um céu de temperatura constante. As coisas eram lentas, muito lentas.
Pássaros pousavam em árvores gigantescas, que levavam cem, duzentos, quinhentos dias para crescer. Tudo permanecia num lugar só, os pássaros não se agitavam nervosamente com sinais do sol, nem as árvores se encolhiam amedrontadas, quando um raio de sol se despejava sobre elas.
Neste sonho, as pessoas passeavam, raramente corriam, o coração delas batia languidamente, e não aos saltos, numa corrida louca. A grama permanecia, e não queimava em tochas. O povo do sonho falava sempre do amanhã e de viver, e não de amanhã e morrer. Parecia tudo tão familiar que quando Sim sentiu alguém tomar sua mão, pensou simplesmente que era outra parte do sonho.
A mão de Lyte dentro da sua. — Sonhando? — perguntou ela.
— Sim.
— As coisas são equilibradas. Nossas mentes, para compensar, para compensar a injustiça de nosso viver, entram para dentro de si mesmas, para encontrar lá coisas boas para se ver.
Golpeava o chão de pedra, repetidamente. — Não torna as coisas certas! Eu odeio isto! Lembra-me que há algo melhor, algo que perdi! Por que não somos ignorantes? Por que não podemos viver e morrer sem saber que esta vida é anormal? — E sua respiração acelerava-se, por sua boca contorcida, entreaberta.
— Há um propósito em tudo — retrucou Lyte. — Isto nos dá um propósito, nos faz trabalhar, planejar, tentar achar um caminho.
Seus olhos eram esmeraldas quentes em seu rosto. — Eu subia uma colina de grama, bem devagar — ele contou.
— A mesma colina de grama por onde andei, há uma hora? — perguntou Lyte.
— Talvez. Bem perto, pelo menos. O sonho é melhor que a realidade. — Apertou os olhos, estreitando-os. — Eu via pessoas, e eles não comiam.
— Ou conversavam?
— Nem conversavam. E nós, estamos sempre comendo, sempre conversando. Às vezes, as pessoas do sonho estendiam-se, com os olhos fechados, sem mover um músculo.
Enquanto Lyte olhava para ele, uma coisa terrível aconteceu. Ele imaginou o rosto dela escurecendo, enrugando, torcendo-se em nós de senilidade. O cabelo, tornando-se branco como neve perto de suas orelhas, os olhos como moedas descoloridas apanhadas numa teia de chicotadas. Seus dentes encolhendo-se, afastando-se de seus lábios, os dedos delicados, dependurados como gravetos queimados, de seus pulsos atrofiados. Sua beleza era consumida e desperdiçada, mesmo enquanto ele estava olhando, e quando ele a agarrou, aterrorizado, gritou, pois imaginava sua própria mão corroída, e sufocou sua exclamação.
— Sim, o que está errado?
A saliva em sua boca secou, com o gosto das palavras.
— Mais cinco dias...
— Os Cientistas.
Sim sobressaltou-se. Quem falou? À luz fraca, um homem alto falava: — Os Cientistas nos jogaram aqui neste mundo, e agora desperdiçaram milhares de vidas, e tempo. Não adianta. Tolerem-nos mas não lhes dediquem seu tempo. Vocês vivem só uma vez, lembrem-se.
Onde estavam esses odiados Cientistas? Agora, após o Aprendizado, a Hora de Conversar, ele estava pronto para encontrá-los. Agora, por fim, ele sabia o suficiente para começar a luta pela libertação, pela nave!
— Sim, aonde está indo?
Mas Sim já tinha ido. O eco de seus pés, correndo, apagava-se, por um túnel de pedra polida.
Parecia que metade da noite havia sido desperdiçada. Perdera-se por uma dúzia de becos sem saída. Muitas vezes era atacado pelos jovens enlouquecidos, que queriam a energia de sua vida. Seus delírios supersticiosos ecoavam atrás dele. As feridas de suas unhas famintas cobriam seu corpo.
Encontrou o que procurava.
Meia dúzia de homens reunidos numa pequena caverna de basalto, bem para o fundo do rochedo. Numa mesa, à frente deles, objetos que, muito embora insólitos, faziam ressoar notas harmoniosas dentro de Sim.
Os Cientistas trabalhavam em conjuntos, os velhos fazendo trabalho importante, e os jovens aprendendo, fazendo perguntas; e a seus pés, três crianças pequenas. Eles eram um processo. A cada oito dias havia um conjunto totalmente novo de cientistas trabalhando em algum problema qualquer. A quantidade de trabalho que se conseguia era terrivelmente insuficiente. Eles envelheciam, e morriam exatamente quando estavam começando seu período criativo. O tempo criativo de qualquer um deles era, talvez, questão de doze horas, de toda a vida. Três quartos da vida eram gastos aprendendo, um breve intervalo de criação, então a senilidade, a insanidade, a morte.
Os homens voltaram-se para Sim, quando este entrou.
— Não me diga que temos um recruta? — disse o mais velho deles.
— Não acredito — disse o outro, mais velho. — Expulsem-no. Provavelmente é um daqueles guerreiros.
— Não, não — objetou o mais velho, arrastando os pés para se aproximar de Sim. — Entre, entre, meu rapaz. — Ele tinha olhos amigos, serenos, diferente do olhar inquieto dos habitantes das cavernas superiores. Grisalho e sereno. — 0 que deseja?
Sim hesitou, abaixou a cabeça, incapaz de sustentar aquele olhar calmo, gentil. — Quero viver — disse, quase soprando.
O ancião riu-se, baixinho. Tocou o ombro de Sim. — Você é de uma nova raça? Está doente? — quis saber, meio seriamente. — Por que não está brincando? Por que não está se preparando para o tempo do amor e do casamento, e ter filhos? Não sabe que amanhã estará quase um homem feito? Não percebe que, se não tiver cuidado, vai perder toda a sua vida? — E calou-se.
Sim concordava a cada pergunta. Relanceou para os instrumentos em cima da mesa. — Não seria aqui o meu lugar?
— Certamente! — exclamou o ancião, sério. — Mas é um milagre que tenha vindo. Não temos tido voluntários que se apresentem já há mil dias! Tivemos de criar nossos próprios cientistas, uma unidade isolada! Conte-nos! Seis! Seis homens! E três crianças! Não é um número espantoso? — O velho cuspiu no chão de pedra. — Pedimos voluntários e o povo grita para nós: — Arranje outro! — ou — Não temos tempo! — E sabem por que falam assim?
— Não — Sim titubeou.
— Porque são egoístas. Querem viver mais, sim, mas sabem que seja lá o que for que fizerem, possivelmente não vão garantir nenhum tempo extra às vidas deles. Poderá garantir vida mais longa a alguma geração futura, deles. Mas eles não vão desistir de seus amores, de sua breve juventude, desistir sequer de um intervalo de nascer ou pôr-do-sol!
Sim apoiou-se contra a mesa, apreensivo. — Entendo.
— Entende? — O velho olhava para ele, sem acreditar. Suspirou e tomou o braço do rapaz. — Sim, claro que compreende. Já é demasiado esperar até mesmo que alguém compreenda. Você é um espécime raro.
Os outros se aproximaram de Sim e do ancião.
— Sou Dienc. Amanhã à noite, Cort, aqui, estará em meu lugar. Estarei morto, então. E na noite seguinte, alguém mais estará no lugar de Cort, e então você, caso trabalhe, e acredite; mas antes, ainda lhe dou uma oportunidade. Volte para seus amigos, se quiser. Há alguém que você ama? Volte para ela. A vida é curta. Por que você haveria de se preocupar com os que ainda não nasceram? Você tem direito à juventude. Vá agora, se quiser. Porque, se ficar, não vai ter tempo para nada, senão trabalhar e envelhecer e morrer trabalhando. Mas é um bom trabalho. Bem, e então?
Sim olhou para o túnel. A alguma distância, o vento rugia e soprava, o cheiro de comida e o ruído de pés nus ressoavam, risos jovens, eram coisas agradáveis de se ouvir. Abanou a cabeça, impaciente, e seus olhos estavam úmidos.
— Ficarei.
A terceira noite e o terceiro dia passaram. Era a quarta noite. Sim foi incorporado àquela vida. Aprendeu a respeito da semente de metal no topo da montanha distante. Ouviu falar das sementes originais, coisas chamadas "naves", que caíram, e como os sobreviventes esconderam-se nas rochas, e as escavaram, envelheceram precocemente e seus esforços para apenas sobreviver, esquecendo toda a ciência. O conhecimento das coisas mecânicas não tinha chance de sobreviver numa tal civilização vulcânica. Havia apenas o AGORA, para cada humano.
Ontem, não importava, o amanhã olhava direta e vividamente, para seus rostos. Mas de alguma forma, as radiações que forçaram seu envelhecimento também induzira um tipo de comunicação telepática, pela qual filosofias e impressões eram absorvidas pelos recém-nascidos. A memória racial, crescendo instintivamente, preservara memórias de outros tempos.
— Por que não vamos até aquela nave, na montanha?— perguntou Sim.
— É muito longe. Precisaríamos de proteção contra o sol — explicou Dienc.
— Já tentaram fabricar essa proteção?
— Pomadas e ungüentos, roupas de pedra e asas de pássaros, e, recentemente, metais grosseiros. Nada funcionou. Em mais de dez mil vidas talvez, faremos um metal pelo qual passará água fria para nos proteger na caminhada até a nave. Mas trabalhamos tão lenta e cegamente. Esta manhã, quando eu era um homem maduro, peguei meus instrumentos. Amanhã, morrendo, abandono-os. O que um homem pode fazer num dia? Se tivéssemos dez mil homens, o problema estaria resolvido...
— Vou até a nave — disse Sim.
— E morrerá — respondeu o velho. Um silêncio caíra na sala, às palavras de Sim. Então os homens olharam para Sim. — Você é um sujeito muito egoísta.
— Egoísta! — respondeu Sim, ressentido.
O velho fez um gesto de que não importava. — Egoísta de um jeito que me agrada. Você quer viver mais, e vai fazer qualquer coisa por isso. Vai tentar alcançar a nave. Mas adianto-lhe que é inútil. Porém, se é o que quer, não posso impedi-lo. Pelo menos não será como aqueles dos nossos que vão à guerra por uns poucos dias de vida a mais.
— Guerra? — perguntou Sim. — Como pode haver guerra, aqui? E um estremecimento passou por ele. Ele não compreendia.
— Amanhã haverá tempo para isso — disse Dienc — ouça-me agora.
A noite passou.
Era manha. Lyte veio, gritando e chorando, por um corredor, e correu para seus braços. Ela estava mudada, de novo. Estava mais velha, e mais bonita. Estava tremendo, e agarrava-se a ele. — Sim, estão atrás de você!
Pés nus avançavam pelo corredor, e entraram. Quíon estava lá, sorrindo, também mais alto, uma pedra aguçada em ambas as mãos.
— Oh, aí está você, Sim!
— Vá embora! — gritou Lyte, selvagemente, virando-se para ele.
— Não, até que levemos Sim conosco — Quíon asseverou-lhe. Então, sorrindo para Sim. — Isto é, se ele quiser nos acompanhar na luta.
Dienc avançou, seus olhos fracos, suas mãos de pássaro vibrando pelo ar. — Saia! — guinchou, raivoso. Este rapaz é um Cientista, agora. Trabalha conosco.
Quíon parou de sorrir. — Há um trabalho melhor a ser feito. Vamos agora combater o povo dos rochedos distantes. — Seus olhos brilharam, ansiosos. — Claro, virá conosco, Sim?
— Não, não! — Lyte agarrou seu braço.
Sim bateu no ombro dela, consolando-a, e voltou-se para Quíon.
— Por que vão atacar esse povo?
— Há três dias a mais para os que forem à luta.
— Mais três dias! De vida?
Quíon confirmou, vigorosamente. — Se ganhamos, vivemos onze dias, ao invés de oito. Os rochedos onde eles vivem, há algo naquele mineral que protege da radiação! Pense só, Sim, três bons longos dias de vida. Junta-se a nós?
Dienc interrompeu. — Vão sem ele. Sim é meu pupilo!
Quíon desdenhou. — Vá morrer, velho. Ao pôr-do-sol, hoje, você será um montão de ossos. Quem é você para nos dar ordens? Somos jovens, queremos viver mais.
Onze dias. As palavras eram inacreditáveis, para Sim. Onze dias. Agora ele entendia por que havia guerra. Quem não lutaria, para ter sua vida estendida por quase a metade de seu total. Tantos dias a mais de vida! Sim; por que não, realmente!
— Três dias extras — exclamou Dienc, estridente — se viver para gozá-los. Se não for morto em combate. Se. Se! Nunca foram vitoriosos ainda. Sempre perderam!
— Mas. desta vez — declarou Quíon, agressivo, — venceremos! Sim estava boquiaberto. — Mas temos os mesmos ancestrais. Por que não dividimos todos os melhores rochedos?
Quíon gargalhou e ajustou uma pedra pontuda em sua mão.
— Os que vivem nos rochedos melhores, pensam que são melhores que nós. É sempre essa a atitude do homem, quando tem o poder. Os rochedos, ali, além do mais, são menores, há espaço só para cem pessoas, nele.
Mais três dias.
— Vou com vocês — resolveu Sim.
— Ótimo! — Quíon estava contente, contente demais com a decisão.
Dienc engasgou.
Sim virou-se para Dienc e Lyte. — Se eu lutar e ganhar estarei meia milha mais perto da nave. E terei três dias a mais para tentar alcançá-la. Parece-me a única coisa a fazer.
Dienc concordou, entristecido. — É a única coisa. Acredito em você. Vá, agora.
— Adeus — disse Sim.
O velho pareceu surpreender-se, então riu-se, como se fosse uma pequena piada. — Está certo; não mais vou vê-lo, não é? Adeus, então. — E apertaram as mãos.
Saíram, Quíon, Sim e Lyte, juntos, seguidos pelos outros, todos crianças crescendo rapidamente, para se tornarem guerreiros. E a luz nos olhos de Quíon não era coisa boa de se ver.
Lyte foi com ele. Ela escolheu para ele as pedras e as carregava. Ela não queria ficar, não importava o quanto ele pedisse. O sol estava pouco além do horizonte, e eles caminhavam pelo vale.
— Por favor, Lyte, volte!
— E esperar que Quíon volte? Ele pensa que, morrendo você, eu serei sua companheira. — Ela abanou seus cachos inacreditavelmente branco-azulados, desafiadora. — Eu fico com você. Se você morrer, eu também cairei.
O rosto de Sim enrijeceu-se. Era alto. O mundo havia diminuído, durante a noite. Grupos de crianças passaram, rindo, procurando por comida, e olhou para elas, admirado: será que só há quatro dias era como elas? Estranho. Havia a sensação de muitos dias em sua mente, como se ele de fato tivesse vivido mil dias. Havia a dimensão de incidente e pensamento, tão espessa, tão multicolorida, tão ricamente diferenciada em sua cabeça, que não era de se acreditar que tanto poderia acontecer em tão pouco tempo.
Os lutadores corriam em grupos de dois ou três. Sim olhou à frente, para a linha de pequenos rochedos de ébano. Este, com que então, dizia consigo mesmo, é o meu quarto dia. E ainda não estou mais perto da Nave, ou de qualquer coisa, nem mesmo; ouviu o andar leve de Lyte ao lado dele; nem mesmo dela, que carrega minhas armas e pega frutas maduras para mim.
Metade de sua vida tinha-se ido. Ou um terço dela, se ganhasse a batalha. Se.
Corria com facilidade, erguendo e deixando cair suas pernas. Este é o dia de minha plenitude física; enquanto corro, como, e enquanto como, cresço, e enquanto cresço, volto o olhar para Lyte com uma espécie de vertigem estonteante. E ela olha para mim com o mesmo pensamento suave. Este é o dia de nossa juventude. Estamos desperdiçando-a? Estaremos perdendo-a, num sonho, numa loucura?
Ouviu risos distantes. Quando criança, não entendia por que. Agora, sim. Este riso, em especial, era feito de escalar as pedras e pegar as folhas mais verdes e, beber o que houvesse de melhor do gelo da manhã e comer das frutas das rochas e saborear lábios jovens, num novo apetite.
Aproximaram-se das falésias do inimigo.
Viu o vulto esguio e alto de Lyte. A nova surpresa de seu pescoço, onde se podia sentir sua pulsação, se tocado; os dedos, entre os dele, vivos, animados, e nunca parados; o...
Lyte virou a cabeça. — Olhe, à frente! — gritou. — Veja o que se aproxima; olhe só para a frente.
Ele sentiu que estavam correndo por parte de suas vidas, deixando a juventude pelo caminho, sem nem mesmo um último relance.
— Estou ofuscando de tanto olhar para as pedras — ele disse, correndo.
— Ache mais pedras!
— Vejo pedras... — Sua voz suavizou-se, como a palma da mão dela. A paisagem flutuava embaixo dele. Tudo era como um vento agradável, soprando como num sonho. — Vejo pedras que formam uma ravina, numa sombra fresca onde as amoras das pedras são grossas como lágrimas. Toca-se uma pedra e as amoras caem em avalanches vermelhas, silenciosas, e a grama é muito macia...
— Não vejo! — ela apertou o passo, desviando a cabeça.
Ele viu a seda de seu pescoço, como o musgo que fica prateado e luminoso, do lado frio das pedras, que se agita, à menor respiração sobre eles. Olhou para si mesmo, mãos fechadas, enquanto precipitava-se para a morte. As veias já marcavam suas mãos, a juventude amadurecia.
Lyte estendeu-lhe a comida.
— Não estou com fome — respondeu.
— Coma, mantenha a boca cheia — ela ordenou, — assim estará forte para a batalha.
— Pelos deuses! — ele rugiu, angustiado, — quem se importa com batalhas!
À frente deles, rochas voavam para baixo, comum ruído surdo. Um homem caiu, com a cabeça rachada. A guerra começara.
Lyte passou as armas para ele. Correram, sem dizer mais nenhuma palavra, até que chegaram ao campo de guerra.
As rochas começaram a rolar, numa avalanche sintética, das fortificações do inimigo!
Só havia um pensamento, em sua cabeça, agora. Matar, encurtar a vida de alguém para que ele pudesse viver, ganhar um lugar aqui e viver o bastante para fazer uma tentativa até a nave. Esquivava-se, negaceava, agarrava pedras e as lançava para cima. Sua mão esquerda segurava uma pedra chata, com que desviava as pedras que caíam, sibilantes. Havia o ruído da chuva de pedras, a toda volta. Lyte corria com ele, encorajando-o. Dois homens caíram à frente dele, seus peitos abertos, expondo os ossos, o sangue espirrando, numa fonte inacreditável.
Era um conflito sem esperança. Sim logo percebeu que louca aventura era. Nunca poderiam galgar a falésia. Uma parede sólida de pedras abatia-se sobre eles. Uma dúzia de homens caía, com pedaços de ébano em suas cabeças, mais meia dúzia apresentavam braços caídos, quebrados. Um gritou e a junta branca de seu joelho, apontou para cima, exposta, e a carne era arrancada por dois golpes sucessivos de granito bem apontado. Homens caíam uns sobre os outros.
Os músculos de seu rosto estavam tensionados, e ele começou a pensar por que tinha vindo, afinal. Mas seus olhos erguidos, enquanto dançava de um lado para o outro, saltitando e abaixando-se, procuravam sempre os rochedos. Ali queria viver intensamente, para ter sua chance. Precisaria tentar, mas estava sem coragem.
Lyte dava gritos agudos. Sim, o coração em pânico, voltou-se e viu que a mão dela estava solta, no pulso, com uma grande e feia fé rida sangrando profusamente, nas juntas dos dedos. Ela a prendeu sob a axila, para aliviar a dor. A ira ergueu-se e explodiu nele. Enfurecido, avançou correndo, lançando mísseis com precisão letal. Viu um homem tropeçar e cair, de um nível para outro das cavernas, vítima de seu tiro. Sim, devia estar gritando, pois seus pulmões arqueavam, e sua boca estava aberta, e o chão levantava poeira, sob seus pés velozes.
À pedra que cortou sua cabeça fez com que caísse para trás. Entrou areia em sua boca. O universo dissolveu-se em.torvelinhos púrpura. Não conseguia levantar-se. Estava deitado, e sabia que este era seu último dia, a sua hora. A batalha aquecia-se à sua volta, e remotamente percebia Lyte por cima dele. As mãos dela esfriavam sua cabeça, ela tentava arrastá-lo para fora do alcance das pedras, mas ele continuava tentando falar, engasgava, e dizia que ela o deixasse.
— Parem! — gritou uma voz. Toda a guerra pareceu ter uma pausa. — Retirar! — comandou a voz, rapidamente. E enquanto Sim olhava, apoiado sobre um cotovelo, seus camaradas viravam-se e voltavam correndo para casa.
— O sol vem vindo, nosso tempo acabou! — Viu suas costas musculosas, tensionando-se, pernas movendo-se para cima e para baixo. Os mortos foram deixados no campo. Os feridos gritavam por socorro. Mas, não havia tempo para os feridos. Havia tempo apenas para os homens válidos correrem para sua casa protetora, e seus pulmões doendo e assados com o ar que esquentava, irromper para dentro de seus túneis, antes que o sol os queimasse e matasse.
O sol!
Sim viu outro vulto correndo para ele. Era Quíon! Lyte estava ajudando Sim a erguer-se, sussurrando, esperançosa, para ele: — Pode andar? — E ele gemia, e dizia: — Acho que sim. — Ande, então, ela disse. — Ande devagar e depois, cada vez mais depressa. Vamos conseguir, eu sei que vamos.
Sim ergueu-se, e ficou oscilando. Quíon correu mais, uma estranha expressão cortando linhas em seu rosto, olhos brilhantes, com o combate. Empurrando Lyte bruscamente para o lado, sobre uma rocha, deu um violento pontapé no tornozelo de Sim, que abriu-lhe um grande corte. Tudo isto foi feito em silêncio.
E então recuou, sem falar, sorrindo como um animal noturno das montanhas, peito arquejante, olhando o que fizera, e olhando para Lyte. Retomou o fôlego — Ele nunca vai conseguir — apontando para Sim, com o queixo. — Precisaremos deixá-lo aqui — Vamos, Lyte.
Lyte, como um felino, pulou sobre Quíon, para agarrar-lhe os olhos, urrando através de seus dentes cerrados, expostos. Seus dedos abriram largos sulcos sangrentos pelos braços de Quíon e de novo, logo em seguida, por seu pescoço. Quíon, praguejando, pulou para longe dela. Ela jogou-lhe uma pedra. Resmungando, ele desviou-se, e correu algumas jardas. — Louca! — gritou para ela, escarnecendo. — Venha comigo. Sim morrerá em poucos minutos. Venha!
Lyte voltou-lhe as costas. — Irei, se você me carregar.
O rosto de Quíon alterou-se. Seus olhos perderam o brilho. — Não há tempo. Ambos morreremos se eu carregar você.
Lyte olhou para ele, com olhar vago. — Carregue-me, pois é assim que quero que seja.
Sem mais palavras, olhando, receosamente para o sol, Quíon fugiu. Seus passos aceleraram-se e ele sumiu, afastando-se. — Que caia, e quebre o pescoço — rosnou Lyte, entre dentes, olhando para seu vulto, enquanto ladeava uma ravina. Voltou para Sim. — Pode andar?
Uma dor de agonia latejava em sua perna, no tornozelo machucado. Disse que sim, irônico. — Poderíamos ir andando, se tivéssemos duas horas. Tenho uma idéia, Lyte. Carregue-me. — E sorriu, com a piada de mau gosto.
Ela pegou no seu braço. — Mesmo assim, andaremos. Venha.
— Não — ele falou — vamos ficar aqui.
— Mas, por quê?
— Viemos procurar um lugar para ficar, aqui. Se andarmos, morreremos. Prefiro morrer aqui. Quanto tempo ainda temos?
Juntos mediram a altura do sol. — Alguns minutos — ela respondeu, com voz cansada. Aproximou-se dele.
As rochas negras da falésia estavam empalidecendo em púrpura e marrom, quando o sol começou a inundar o mundo.
Que idiota ele tinha sido! Deveria nunca ter saído, e trabalhado com Dienc, e pensado, e sonhado.
Com os tendões de seu pescoço saltando, desafiadoramente gritou, para cima, para os buracos na falésia.
— Mandem um homem para lutar comigo!
Silêncio. Sua voz ecoou contra a parede rochosa. O ar estava quente.
— Não adianta — advertiu Lyte. — Eles não vão lhe dar atenção.
Gritou de novo. — Ouçam-me! — Apoiou o peso em seu pé sadio, a perna esquerda ferida, pulsando e latejando, com a dor. Brandiu um punho. — Mandem-me um guerreiro que não seja um covarde! Não vou virar e correr para casa! Vim para uma luta justa! Mandem um homem que lute pelo direito à sua caverna! A ele, certamente matarei!
Mais silêncio. Uma onda de calor passou pela terra, e recuou.
— Oh, por certo — mofava Sim, mãos na cintura, cabeça para trás, boca escancarada — por certo que há alguém dentre vocês que não tenha medo de lutar com um aleijado! — Silêncio. — Não? — Silêncio.
— Então, eu os subestimei. Estou errado, ficarei aqui, então, até que o sol descasque a pele de meus ossos, em tiras negras, e vou ficar dizendo os insultos que vocês merecem.
Teve resposta.
— Não gosto de ser insultado — replicou uma voz de homem. Sim inclinou-se para a frente, esquecendo seu pé machucado. Um homenzarrão apareceu na boca de uma caverna, no terceiro nível.
— Desça — apressou-o Sim. — Desça, gordinha, e mate-me.
O homem considerou seu oponente por um momento, e então foi descendo, lentamente, mãos vazias de quaisquer armas. Imediatamente todas as cavernas acima estavam coalhadas de cabeças. Uma audiência para este drama.
O homem aproximou-se de Sim. — Lutaremos segundo as regras, se é que as conhece.
— Aprenderei, enquanto lutarmos.
Isto agradou o homem, e passou a olhar para Sim com cuidado, mas não amistosamente. Posso dizer-lhe uma coisa — ofereceu o homem, generosamente. — Se morrer, darei abrigo à sua companheira, e ela viverá livremente porque ela é mulher de um bom homem.
Sim assentiu, bruscamente. — Estou pronto.
— As regras são simples. Não nos tocamos, exceto com pedras. As pedras e o sol vão acabar com um de nós. Agora, comecemos...
Uma ponta do sol já se mostrava no horizonte. — Meu nome é Nhoj — disse o adversário de Sim, casualmente pegando uma mancheia de calhaus e pedras maiores, sopesando-as. Sim fez o mesmo. Estava com fome. Não comia havia alguns minutos. A fome era o flagelo do povo deste planeta — uma demanda perpétua dos estômagos vazios, para mais e mais comida. Seu sangue corria fraco, retinindo pelas veias em palpitações de calor e pressão, seu tórax se expandia e contraía, impacientemente.
— Agora! — rugiram os trezentos espectadores das rochas: — Agora! — clamavam, e os homens, mulheres e crianças espremiam-se pelas bordas, em tumulto. — Agora! Comecem!
Como num sinal, o sol subiu. Atingiu-os com um golpe como com uma pedra chata, assobiando pelo ar. Os dois homens bambearam sob o impacto abrasador, o suor vertente de suas pernas juntas, despidas, sob seus braços e em suas faces, com um brilho como de vidro fino.
Nhoj equilibrou seu grande peso, e olhou para o sol, como se não tivesse pressa de lutar. Então, sem fazer barulho, sem aviso, lançou uma pedrinha com notável agilidade, com o polegar e o indicador. Atingiu Sim em cheio no rosto, desequilibrou-o para trás, e um rojão de dor intolerável subiu de seu pé machucado e explodiu nos nervos, em seu estômago vazio. Sentiu o gosto de sangue, de seu rosto ferido.
Nhoj movia-se, serenamente. Mais três gestos curtos de suas mãos de mágico, e três pedacinhos aparentemente inócuos, de pedra, voaram como pássaros, silvando. Cada uma acertou no alvo. Os centros nervosos do corpo de Sim! Uma atingiu seu estômago, de modo que dez horas de alimentação quase subiram por sua garganta. Uma segunda, atingiu sua testa, uma terceira, seu pescoço. Caiu na areia fervente. Seu joelho chocou-se ruidosamente contra o chão duro. Seu rosto estava descolorido e seus olhos, apertados "empurravam lágrimas pelas pálpebras quentes e trêmulas. Mas, enquanto caía, lançara com uma força selvagem, incontida, sua mancheia de pedras!
As pedras revolutearam no ar. Uma delas, e apenas uma, atingiu Nhoj. Sobre a órbita esquerda. Nhoj gemeu e no instante seguinte, levou as mãos a seu olho rasgado.
Sim deu uma amarga risada, sonora, e entrecortada. Este triunfo, ao menos, tivera. O olho de seu oponente. Dar-lhe-ia... Tempo. Ó deuses, ele pensou, seu estômago convulsionado, lutando para respirar, é um mundo do tempo. Dai-me mais um pouco dele, só um segundinho!
Nhoj, caolho, vacilando, com a dor, apedrejou o corpo retorcido de Sim, mas seu alvo estava agora fora de alcance, as pedras voando para o lado, ou o atingiam sem força ou eram perdidas.
Sim forçou-se a ficar meio ereto. Pelo canto dos olhos, viu Lyte, esperando, fixando os olhos nele, seus lábios soprando palavras de encorajamento e esperança. Ele estava banhado em suor, como se uma pancada de chuva o tivesse atingido.
O sol estava agora totalmente acima do horizonte. Podia-se cheirá-lo até. As pedras brilhavam como espelhos, a areia começou a se mover e borbulhar. Miragens em todos os lugares do vale. Ao invés de um guerreiro, Nhoj confrontava-se com uma dúzia, cada um de pé, pronto para lançar um novo míssil. Uma dúzia de guerreiros irregulares que reluziam à dourada ameaça do dia, como gongos de bronze golpeados, vibrando numa visão!
Sim estava ofegando desesperadamente. Suas narinas expandiam-se, chupando o ar, e sua boca bebia, seca, o fogo, ao invés do oxigênio. Seus pulmões incendiaram-se como mechas, e seu corpo consumia-se. A transpiração jorrava de seus poros, para se evaporar instantaneamente. Sentia-se murchando, secando, encolhendo-se, e ele imaginava-se com o aspecto de seu pai, velho, abatido, recurvado, enrugado! Onde estava a areia? Ele podia se mover? Sim. O mundo ondulava, embaixo dele, mas agora, estava de pé.
Não haveria mais luta.
Um vozerio, lá do rochedo, dizia isso. Os rostos queimados de sol da audiência, estavam boquiabertos, e saudavam e gritavam encorajamento para seu guerreiro. — De pé, Nhoj, economize sua força, agora! Fique de pé, e transpire! — instavam. E Nhoj ergueu-se, balançando leve e lentamente, um pêndulo ao hálito incandescente, vindo do horizonte. — Não se mova, Nhoj, poupe seu coração, poupe sua força!
— O Teste! O Teste! — falava o povo, nas alturas. — O teste do sol.
E esta era a pior parte da luta. Sim olhava, olhos semicerrados, para a ilusão distorcida —do rochedo. Pensou ver seus pais; o pai com seu rosto decadente, seus olhos verdes queimando, sua mãe com o cabelo esvoaçante, como uma nuvem de fumaça cinza, — ao vento de fogo. Ele precisava erguer-se, por eles, viver para e com eles!
Atrás dele, Sim ouviu Lyte gemer, baixinho. Houve um roçar de carne contra a areia. Ela caiu. Ele não se atreveu a olhar. Esse esforço lhe traria a dor e a escuridão.
Seus joelhos dobraram. Se eu cair, pensou, ficarei aqui, e me tornarei cinza. Onde estava Nhoj? Nhoj estava ali, a algumas jardas, dobrado, viscoso com o suor, parecendo ter sido malhado na espinha com grandes martelos destruidores.
— Caia, Nhoj! Caia! — pensou Sim. — Caia! Caia! Caia, para que eu tome seu lugar!
Mas Nhoj não caía. Um a um, os calhaus em sua mão esquerda, entreaberta caíram na areia ardente, e os lábios de Nhoj repuxaram, a saliva secando em seus lábios, e seus olhos vidraram. Mas ele não caía. O desejo de viver era forte, nele. Estava como que pendurado por um arame.
Sim caiu, sobre um joelho!
— Ahh! — ululavam as vozes do rochedo. Estavam assistindo à morte. Sim lançou a cabeça para cima, sorrindo mecânica e estupidamente, como se surpreendido fazendo algo de errado. — Não, não! — ele hesitava, embriagado, e ergueu-se. A dor era tanta que ele era só torpor, que zunia. Um assobio, um zunido, um som de fritura enchia a terra. Lá em cima, descia uma avalanche, como uma cortina num cenário, sem ruído. Tudo era quieto, exceto por um zumbir constante. Via agora cinqüenta imagens de Nhoj, com uma armadura de suor, olhos inchados com a tortura, faces encolhidas, lábios repuxados, como a pele de uma fruta seca. Mas aquele arame ainda o sustentava.
— Agora — disse Sim, entre dentes, desajeitado, com uma língua grossa e cozida entre seus dentes férvidos. — Agora, vou cair, e deitar e sonhar. — Disse com um prazer lento, meditativo. Planejava. Sabia como tinha de ser feito. E o faria acuradamente. Ergueu a cabeça, para ver se a audiência estava olhando.
Tinham se recolhido!
O sol os havia afastado. Todos, exceto um ou dois mais valentes. Sim riu, embriagado, e olhava o suor acumular-se em suas mãos amortecidas, hesitar, pingar e cair na terra, e evaporar-se antes de cair.
Nhoj caiu.
O arame fora cortado. Nhoj caiu de frente de barriga, e um jato de sangue pulou de sua boca. Seus olhos rolaram, num ar de loucura, brancos.
Nhoj caiu, juntamente com suas cinqüenta duplicatas ilusórias.
Através de todo o vale, os ventos cantavam, e se lamentavam, e Sim viu um lago azul, com um rio azul alimentando-o e casas brancas e baixas perto do rio, com as pessoas indo e vindo, nas casas, e por entre as árvores altas. Árvores mais altas do que sete homens perto da miragem do rio.
— Agora — explicou Sim para si mesmo, por fim, — Agora, posso cair. Bem... dentro... daquele... lago.
Caiu para a frente.
Surpreendeu-se quando sentiu as mãos pressurosamente ampará-lo em meio ao mergulho, erguê-lo, e arrastá-lo, alto, no ar devora-dor, como uma tocha é segura, brandida e acesa.
— Como a morte é estranha — pensou, e o negror tomou conta dele.
Acordou com água fria escorrendo pelo rosto.
Abriu seus olhos, assustados. Lyte segurava sua mão no colo, seus dedos empurravam comida na boca. Ele estava tremendamente faminto, e cansado, mas o medo expulsava essas duas coisas. Esforçou-se para se levantar, vendo.os contornos da caverna estranha acima de si.
— Em que tempo estamos? —perguntou.
— O mesmo dia da luta. Fique quieto — ela disse.
— O mesmo dia!
Ela confirmou, admirada. — Não perdeu nada de sua vida. Esta é a caverna de Nhoj. Estamos dentro do rochedo negro. Viveremos mais três dias. Satisfeito? Agora deite-se.
— Nhoj está morto? — Ele caiu para trás, seu coração martelando as costelas. Relaxou, lentamente. — Eu ganhei; eu ganhei — repetia exausto..
— Nhoj está morto. E nós quase, também. Carregaram-nos dali bem em tempo.
Ele comeu sofregamente. — Não temos tempo a perder. Precisamos ficar fortes. Minha perna... — Olhou para ela, experimentou-a. Havia uma faixa de longas folhagens amarelas ao longo dela,e a dor desaparecera. Enquanto estava olhando a pulsação acelerada de seu corpo estava trabalhando, curando todas as impurezas, sob as bandagens. Precisava estar forte,no ocaso, pensava; precisava.
Ergueu-se e mancou pela caverna, como um animal enjaulado.
Sentiu Lyte fitando-o. Não podia fixar o olhar dela. Finalmente, exasperado, virou-se para ela.
— Ela interrompeu-o. — Quer ir para a nave? — perguntou, em voz baixa. — Esta noite? Quando o sol se pôr?
Tomou um grande fôlego, e respondeu, — Sim.
— Não poderia esperar até amanhã?
— Não.
— Então, vou com você. —Não!
— Se me atrasar, deixe-me para trás. Não há nada aqui para mim. Olharam longamente, um para o outro. Ele deu de ombros, cansado.
— Está bem — falou, por fim. — Eu não poderia impedi-la, eu sei. Iremos juntos.
Esperaram, à boca de sua nova caverna. O sol se pôs. As pedras esfriaram, até que se pudesse caminhar sobre elas. Era quase hora de pular fora e correr para a distante e luzente semente de metal, na montanha distante.
Logo viriam as chuvas. E Sim relembrou todas as vezes que havia observado as chuvas engrossarem correntezas, rios que cortavam novos leitos, a cada noite. Numa noite, haveria um rio indo para o norte; na seguinte, um rio indo para o oeste. O vale era continuamente cortado e lanhado pelas torrentes. Terremotos e avalanches enchiam os antigos leitos. Os novos era a ordem do dia. Era a sua idéia sobre os rios e suas direções que ruminara na cabeça, por horas. Poderia... Bem, esperaria para ver.
Notara como a vida neste novo rochedo desacelerara seu pulso, e tudo ia mais devagar, Um resultado do mineral, a proteção contra as radiações solares. A vida ainda era rápida, mas não tanto quanto antes.
— Agora, Sim! — gritou Lyte.
Correram. Entre a morte quente e fria. Juntos, distanciando-se dos rochedos, para o distante foguete que os atraía.
Nunca tinham corrido tanto em suas vidas. O som de seus pés correndo era um matraquear insistente, duro, sobre rochas alongadas, descendo ravinas, subindo, e sempre à frente. Respiravam o ar furiosamente, para dentro e para fora de seus pulmões. Atrás deles, os rochedos desvaneciam em coisas que eles não podiam ver, não podiam olhar para trás.
Não comiam, enquanto corriam. Comeram até a saciedade, na caverna, para economizar tempo. Agora era só correr, levantar as pernas, balançar os cotovelos dobrados, uma convulsão de músculos, fartar-se com o ar, que antes era de fogo, e agora, refrescante.
— Eles estão nos espiando?
A voz, sem fôlego, de Lyte falava em suas orelhas, através do bater do coração.
Quem? Mas ele sabia a resposta. O povo do rochedo, claro. Há quanto não havia outra corrida como esta? Mil dias? Dez mil? Há quanto tempo que alguém havia se arriscado, e se posto a correr, com os olhos de toda uma civilização em suas costas, por canais e planos. Haveria amantes interrompendo seus risos, lá atrás, olhando as duas manchinhas escuras, que eram um homem e uma mulher correndo para o destino? Haveria crianças comendo novos frutos e parando sua brincadeira para ver duas pessoas correndo contra o tempo? Dienc ainda estaria vivo, apertando sobrolhos cabeludos sobre os olhos obscurecidos, gritando para eles numa voz fraca, áspera, agitando a mão retorcida? Haveria uma torcida? Estariam sendo chamados de insensatos, idiotas? E no meio das imprecações, haveria gente rezando para que eles alcançassem a nave?
Sim olhou brevemente para o céu, que estava começando a fechar-se, com a aproximação da noite. Do nada, nuvens materializavam-se, e uma leve pancada de chuva caía por um canal, duzentas jardas à frente. O relâmpago golpeava montanhas mais remotas, e havia um forte cheiro de ozônio no ar perturbado.
— O meio do caminho — disse Sim, ofegando, e viu o rosto de Lyte virar-se, olhando saudosa, para a vida que levara. — Agora é a hora; se quisermos voltar, ainda temos tempo. Mais um minuto...
O trovão rosnou, nas montanhas. Uma avalanche começou, pequena, e acabou, gigantesca e desmesurada, numa profunda fissura. A chuva pontilhava a pele alva e macia de Lyte. Num minuto, seu cabelo estava brilhante e empapado com a chuva.
— Muito tarde, agora — ela gritou, ao ritmo de seus pés, que chapinhavam na água. Precisamos continuar!
E de fato era muito tarde. Sim sabia, avaliando a distância, de que não havia como voltar, agora.
Sua perna voltou a incomodá-lo. Moderou o passo. Um vento começou a soprar. Um vento frio, que penetrava o corpo. Mas vinha dos rochedos, atrás deles, e mais ajudava do que atrapalhava a jornada. Um agouro? ele pensou. Não.
Pois, com o passar dos minutos evidenciava-se-lhe quão subestimara a distância. O tempo estava esgotando, mas eles ainda estavam a uma distância impossível, da nave. Nada disse, mas a raiva impotente contra os músculos lentos em suas pernas transbordou em lágrimas quentes e amarguradas em seus olhos.
Ele sabia que Lyte pensava o mesmo. Mas ela corria, como uma ave branca, mal parecia tocar o chão. Ouvia sua respiração, em sua garganta, como uma faca, limpa e afiada, entrando e saindo de sua bainha.
Metade do céu estava encoberta. As primeiras estrelas espiavam por entre as nuvens negras. O relâmpago mostrou um caminho ao longo de uma borda, bem à frente deles. Uma tempestade violenta de chuva e explosões de eletricidade caiu sobre eles.
Escorregaram e deslizaram em pedras cobertas de musgo. Lyte caiu, recuperou-se, praguejando. Seu corpo estava sujo e arranhado. A chuva lavou-a.
A chuva caía e atacava Sim. Enchia seus olhos, e escorria abundantemente por sua espinha, e ele desejava chorar com a chuva.
Lyte caiu e não conseguiu erguer-se, respirando fundo, seios tremendo.
Ele a levantou e amparou-a. — Corra, Lyte, por favor, corra!
— Deixe-me, Sim, vá em frente! — A chuva enchia sua boca. A água estava em toda parte. — Não adianta. Vá sem mim.
Ele ficou gelado, impotente, pensamentos abatidos, a chama da esperança quase apagando. Todo o mundo era escuridão, mantos frios de chuva caindo e desespero.
— Andaremos, então — ele disse: — e continuamos andando e descansando.
Andaram cinqüenta jardas, devagar, como crianças passeando. O canal à frente deles estava cheio de água, que deslizava, com um som molhado, para o horizonte.
Sim soltou uma exclamação. Cutucando Lyte, correu à frente. — Um novo canal — apontou. — A cada dia, a chuva corta um novo canal. Aqui, Lyte! — Parou perto da enxurrada.
Mergulhou, levando-a consigo.
A correnteza varreu-os como pedaços de madeira. Lutavam para manter a cabeça à tona, a água entrava por suas bocas, por seus narizes. A terra passava depressa a seus lados. Agarrando os dedos de Ly-te com uma força descomunal, Sim sentiu-se empurrado, dando cambalhotas, e via os relâmpagos, acima, e uma nova esperança, forte, nascia dentro dele. Não podiam mais correr; pois bem, a água correria por eles.
Com uma velocidade que os lançava contra pedras, rasgava seus ombros, arranhava suas pernas, o efêmero novo rio os transportava. — Por aqui! — gritava Sim, junto com uma salva de trovões, e tentava orientar-se freneticamente para a margem oposta do canal. A montanha onde estava a nave achava-se bem à frente. Não deviam ultrapassá-la. Debateram-se, em meio ao líquido que os transportava, e foram jogados contra a margem. Sim pulou, agarrou uma rocha que se projetava, segurou Lyte com as pernas, e ergueu-se, palmo a palmo.
Tão depressa quanto viera, foi-se a tempestade. Os relâmpagos desapareceram. A chuva parou. As nuvens derreteram-se e sumiram do céu. O vento logo silenciou.
— A nave! — Lyte erguera-se. — A nave. Sim. Esta é a montanha da nave!
Agora vinha o frio. O frio mortal.
Forçaram-se, tontos que estavam, a subir a montanha. O frio rastejava por seus membros adentro, entrava em suas artérias como uma substância química, e os retardava.
À frente, recém-lavada, a nave. Era um sonho. Sim não podia acreditar que realmente estavam tão perto. Duzentas jardas. Cento e setenta jardas.
O chão ficou coberto de gelo. Escorregaram e caíram, repetidamente. Atrás deles, o rio estava congelado numa serpente branco-azulada de fria solidez. Algumas últimas gotas de chuva de algures caíram, duras como pedras.
Sim tocou o casco da nave. Estava realmente tocando-a. Tocando! Ouviu Lyte soluçando, com a garganta contraída. Era este o metal, a nave. Quantos outros a tocaram, nos dias longos? Ele e Lyte conseguiram!
Então, tão frias como o ar, as veias regelaram-se.
Onde era a entrada?
Você corre, nada, quase se afoga, pragueja, sua, trabalha, chega a uma montanha, escala a montanha, martela o metal, grita de alívio, e então... não consegue achar a porta.
Ele lutou para controlar-se. Devagar, disse para si mesmo, que deveria dar a volta à nave. O metal deslizava sob suas mãos, tateantes, suando, quase fundindo-se com o casco. Agora, para o lado. Lyte ia com ele. O frio os constrangia, como um punho. Começou a apertar.
A porta.
Metal. Frio e imutável metal. Uma fina linha da abertura, selada. Deixando o cuidado de lado, bateu nela. Sentiu o estômago queimar com o frio. Seus dedos estavam anestesiados, seus olhos estavam quase congelados, nas órbitas. Começou a bater e procurar e gritar para a porta de metal. — Abra! Abra! — vacilou. Havia esbarrado em algo... Um clic!
A porta estanque suspirou. Com um sopro de metal sobre coxins de borracha, a porta abriu-se suavemente para o lado, e desapareceu para dentro.
Viu Lyte correr para dentro, com as mãos agarrando a garganta, e cair dentro de uma pequena câmara iluminada. Precipitou-se cegamente atrás dela.
A porta estanque fechou-se, atrás deles.
Ele não conseguia respirar. Seu coração começou a bater devagar, parando.
Estavam apanhados dentro da nave, agora, e algo estava acontecendo. Ele caiu de joelhos e tentou respirar.
A nave para a qual tinha vindo, para se salvar, estava agora reduzindo sua pulsação, obscurecendo seu cérebro, envenenando-o. Com um esfaimado e débil tipo de terror agonizante, percebeu que estava morrendo.
Escuridão.
Tinha um opaco senso da passagem do tempo, de pensar, fazer força, fazer seu coração acelerar... Focalizar os olhos. Mas o fluido de seu corpo arrastava-se em veias assentadas e ele ouvia seu pulso bater, fazer uma pausa, bater, parar, e bater de novo, com intervalos sossegados.
Não podia mover-se, nem a mão, perna ou dedo. Era um grande esforço erguer a tonelagem de suas sobrancelhas. Nem mesmo podia erguer o rosto, para ver Lyte a seu lado.
À distância, vinha sua respiração irregular. Era como o som de um pássaro ferido, estertorando com as asas. Ela estava tão perto que quase sentia o calor de seu corpo; mas parecia tão longe...
Estou esfriando! pensou. Será isto a morte? Esta redução no sangue, no coração, o resfriamento do corpo, este modo de pensar entorpecido?
Olhando para o teto da nave, examinou seu intrincado sistema de tubos e máquinas. O conhecimento, a finalidade desta nave, suas ações, embebiam-se nele. Começou a entender, numa espécie de lassidão reveladora, o que eram essas coisas que seus olhos miravam. Devagar. Devagar.
Havia um instrumento com um mostrador branco lustroso.
Sua finalidade?
Trabalhou com o problema, penosamente, como um homem embaixo d'água.
Pessoas usavam o mostrador. Tocaram-no. Pessoas o repararam. Instalaram. Pessoas sonharam com ele antes da construção, da instalação, antes de reparar e tocar e usar. O mostrador continha a memória do uso e da manufatura; seu formato era uma memória-de-sonho contando para Sim por que e para que havia sido construído. Dado o devido tempo, olhando para qualquer coisa, poderia extrair dela o conhecimento que desejasse. Alguma obscura parte dele estendia-se, projetava-se, dissecava o conteúdo das coisas, e as analisava.
Esse mostrador media o tempo!
Milhões de horas de tempo!
Mas, como era possível? Os olhos de Sim dilataram-se, quentes e brilhantes. Onde havia humanos que precisavam de semelhante instrumento?
O sangue batia, como tambor, em seus olhos. Fechou-os.
Entrou em pânico. O dia passava. Estou aqui, deitado, pensou, e minha vida vai se esvaindo. Não posso mover-me. Minha juventude está passando. Quanto, ainda, antes que possa mover-me?
Por uma espécie de escotilha, ele viu a noite passar, vir o dia, passar, e a noite, de novo. As estrelas dançavam, geladas.
Ficarei aqui por quatro ou cinco dias, me encolhendo e me enrugando, pensou. Esta nave não vai deixar que eu me mova. Teria sido melhor eu ter ficado no rochedo, em casa, aproveitando esta curta vida. De que me serviu vir até aqui? Estou perdendo todas as madrugadas e os ocasos. Nunca tocarei Lyte, muito embora ela esteja aqui, a meu lado.
Delírio. Sua mente flutuava. Seus pensamentos turbilhonavam pela nave metálica. Cheirou o aroma cortante do metal soldado. Ouvia o casco contrair-se à noite, relaxar-se com o dia.
Madrugada.
Já; outra madrugada!
Hoje eu estaria homem feito. Seus maxilares apertaram-se. Preciso levantar. Preciso mexer. Preciso aproveitar este tempo.
Mas não conseguia. Sentia o sangue sendo bombeado sonolenta-mente, de uma câmara vermelha para outra, em seu coração, para baixo, e a toda volta de seu corpo morto, para ser purificado por seus pulmões, que dobravam e desdobravam.
A nave aqueceu-se. De algum ponto, uma máquina estalou, e automaticamente, a temperatura caiu. Uma lufada controlada de ar passou pelo compartimento.
Noite, de novo.—E então, outro dia.
Ficou deitado, e viu quatro dias de sua vida passarem.
Não tentou lutar. Não adiantava. Sua vida terminara.
Não queria voltar a cabeça, agora. Não queria ver Lyte com o rosto torturado como o de sua mãe; pálpebras como flocos de cinza, olhos como metal gasto pela areia, faces como pedras erodidas. Não queria ver uma garganta como tiras de folhas secas, mãos com os desenhos da fumaça que sobe de uma fogueira, o peito como cascas de frutas secas, e o cabelo espetado, sem aparar, como sementes de mato molhadas!
E ele? Como deveria estar seu aspecto? Seu maxilar estaria caído, a carne de seus olhos retraída, sua testa vincada e marcada pela idade?
Suas forças começaram a retornar. Sentia seu coração batendo tão devagar, que era quase incompreensível. Cem pulsações por minuto. Impossível. Sentia-se tão calmo, tão pensativo, tão sereno.
Seu cabeça caiu para um lado. Olhou para Lyte. Soltou um grito de surpresa.
Estava jovem e bela.
Ela estava olhando para ele, muito fraca para dizer alguma coisa. Seus olhos eram como pequeninas medalhas de prata, seu pescoço curvado como o braço de uma criança. Seu cabelo era fogo azul, até a raiz, alimentado pela vida esbelta de seu corpo.
Quatro dias se passaram e ela ainda era jovem... não, mais jovem do que quando entraram na nave. Era ainda uma adolescente.
Não conseguia acreditar.
Suas primeiras palavras foram: — Quanto isto vai durar?
Ele replicou, cuidadoso, — Não sei.
— Ainda somos jovens.
— A nave, este metal que nos rodeia. Corta o sol e as coisas que vêm dele para nos envelhecer.
Os olhos dela moveram-se, pensativos. — Então, se ficarmos aqui...
— Ficaremos jovens.
— Mais seis dias? Catorze? Vinte?
— Mais do que isso, talvez.
Ela deixou-se ficar ali, em silêncio. Depois de uma longa pausa, falou. — Sim?
— O que é?
— Vamos ficar aqui. Não vamos voltar. Se voltarmos agora, sabe o que vai acontecer conosco?...
— Não estou certo.
— Vamos começar a envelhecer, não é?
Ele afastou o olhar. Fitava o teto, e o relógio, com o ponteiro móvel. — Sim; envelheceremos.
— E se envelhecermos... instantaneamente. Quando sairmos da nave, o choque não seria demasiado?
— Talvez.
Outro silêncio. Ele começou a mover seus membros, testando-os. Estava faminto. — Os outros estão esperando — disse.
As palavras seguintes dela o tomaram de surpresa. — Os outros estão mortos; ou estarão, em poucas horas. Todos os que conhecemos, estão velhos.
Ele tentou imaginá-los velhos. Dark, sua irmã, recurvada e senil, com o tempo. Abanou a cabeça, varrendo aquelas imagens. — Podem morrer, mas outros nasceram.
— Pessoas que não conhecemos.
— Mas, mesmo assim, é a nossa gente; gente que vai viver só oito dias, ou onze, a menos que os ajudemos.
— Mas estamos jovens, Sim! Podemos continuar jovens!
Ele não queria ouvir. Era algo muito tentador para se dar ouvidos. Ficar aqui. Viver. — Já tivemos mais tempo do que os outros. Preciso de trabalhadores. Homens para curar esta nave. Vamos nos levantar agora, você e eu, e acharemos comida, comeremos, e veremos se a nave pode ser movida. Estou com medo de movê-la sozinho. É tão grande. Precisarei de ajuda.
— Mas isso significa correr de volta toda aquela distância!
— Eu sei. — Levantou-se, meio debilitado. — Mas eu o farei.
— Como vai trazer os homens aqui?
— Usaremos o rio.
— Se houver ainda um rio. Pode estar em algum outro lugar.
— Esperaremos até que haja um, então. Preciso voltar, Lyte. O filho de Dienc está esperando por mim, minha irmã, seu irmão, são velhos, prontos para morrer, e esperando uma palavra nossa...
Depois de algum tempo, ele escutou-a movendo-se, arrastando-se dificultosamente até ele. Apoiou a cabeça sobre seu peito, olhos fechados, acariciando seu braço. — Desculpe, você precisa voltar. Sou uma egoísta idiota.
Ele tocou seu rosto, desajeitado. — Você é humana. Compreendo-a. Não há o que desculpar.
Acharam comida. Andaram pela nave. Estava vazia. Apenas na sala de comando encontraram os restos de um homem que deveria ter sido o piloto. Os outros evidentemente deveriam ter saltado no espaço, em salva-vidas. Este piloto ficando nos controles, sozinho, descera com a nave numa montanha, à vista das outras, caídas e esmagadas. Sua localização, numa elevação, salvara-o das inundações. O piloto mesmo tinha morrido, provavelmente, do coração, logo depois da descida. A nave permanecera lá, quase ao alcance dos outros sobreviventes, perfeita como um ovo, mas silenciosa por... quantos milhares de dias? Se o piloto tivesse vivido, que coisa diferente a vida poderia ter sido para os ancestrais de Sim e Lyte. Sim, pensando nisto, sentiu a distante e ignominiosa vibração da guerra. Qual teria sido o resultado da guerra entre os mundos? Quem vencera? Ou ambos os planetas teriam perdido, sem se importarem com os sobreviventes? Quem teria tido razão? Quem era o inimigo? O povo de Sim era culpado, ou inocente? Nunca saberiam.
Inspecionou a nave apressadamente. Nada sabia de seu funcionamento, se bem que enquanto percorria seus corredores, tateava seu maquinário, aprendia. Precisava apenas de uma tripulação. Um homem possivelmente não seria capaz de pôr tudo a funcionar, de novo. Pôs as mãos sobre u'a máquina redonda, como uma tromba. Retirou a mão depressa, como se queimasse.
— Lyte!
— O que foi?
Tocou a máquina de novo, acariciou-a, suas mãos tremiam violentamente, olhos rasos d'água, sua boca abria e fechava, olhava para a máquina adorando-a, então dirigiu-se para Lyte.
— Com esta máquina; — ele gaguejava, incrédulo. — Com esta máquina... eu posso...
— O quê, Sim?
Ele inseriu a mão num dispositivo em forma de taça, com uma alavanca dentro. Para fora da escotilha, à sua frente, via a linha distante dos penedos. — Temíamos que nunca poderia haver outro rio correndo por esta montanha, não? — perguntou, exultante.
— Sim, mas...
— Haverá um rio. E eu vou voltar, esta noite! E trarei homens comigo. Quinhentos homens! Porque com esta máquina posso abrir um leito de rio até as rochas, pelo qual as águas se escoem, dando para mim e para os homens um modo rápido e seguro de vir até aqui! — Passou a mão pelo cano da máquina. — Quando a toquei, a vida, e o método dela acenderam-se dentro de mim! Olhe só! — Apertou a alavanca.
Um feixe de fogo incandescente lançou-se para fora da nave, gritando.
Com constância e precisão, Sim começou a cortar um leito de rio para que as águas da tempestade o enchessem. A noite foi transformada em dia, com o fogo devorador.
A volta dos rochedos devia ser feita por Sim, sozinho. Lyte precisava ficar na nave, em caso de algum acidente. A viagem de volta parecia, à primeira vista, impossível. Não haveria correnteza para abreviar o tempo, para varrê-lo rumo a seu destino. Teria de correr toda a distância na madrugada, e o sol o alcançaria antes de estar em segurança.
— O único modo de conseguir é começar antes do nascer do sol.
— Mas você seria congelado, Sim.
— Veja. — Fez ajustes na máquina que acabara de cortar o leito de rio na rocha do vale. Ergueu o nariz da arma, apertou a alavanca, e uma língua de fogo disparou na direção dos rochedos. Tocou o controle de alcance, focalizou a chama, terminando a três milhas de sua fonte. Pronto. Voltou-se para Lyte. — Mas eu não entendo — disse ela.
Ele abriu a porta estanque. — Está terrivelmente frio lá fora, e falta ainda meia hora para o nascer do sol. Se eu correr paralelamente à chama da máquina, perto o bastante, não haverá muito calor, mas o bastante para sustentar a vida, enfim.
— Não me parece seguro — protestou Lyte.
— Nada é seguro, neste mundo. — Avançou. — Terei uma vantagem de meia hora. Deve ser o bastante para chegar aos rochedos.
— Mas se a máquina falhar enquanto você ainda estiver correndo junto a seu feixe?
— Nem pense nisso.
Um momento depois, ele estava fora. Bambeou, como se tivesse sido golpeado no estômago. Seu coração quase explodiu dentro dele. O ambiente deste mundo forçava-o à vida rápida, de novo. Sentiu o pulso acelerar, martelando suas veias.
A noite era fria como a morte. O raio de calor, da nave, cortava o vale, zumbindo, sólido e quente. Movia-se perto dele, muito perto. Um passo em falso nesta corrida e...
— Voltarei — disse para Lyte.
Ele e o raio de luz foram-se, juntos.
De manhãzinha, o povo das cavernas viu o longo dedo de incandescência laranja e a insólita aparição esbranquiçada, flutuando, correndo a seu lado. Houve murmúrios e gemidos e muitos suspiros, e assombro.
E quando Sim finalmente atingiu os rochedos de sua infância, viu pessoas estranhas andando por ali. Não havia rostos familiares. Então ele percebeu como era tolo esperar por rostos familiares. Um dos anciãos olhou para ele. — Quem é você? — gritou. — É do rochedo inimigo? Qual é seu nome?
— Sou Sim, filho de Sim! —Sim!
Uma velha gritou, do rochedo mais acima. Veio descendo pelo caminho de pedra, com passo incerto. — Sim, Sim, é você!
Olhou para ela, desconcertado. — Mas, eu não a conheço — murmurou.
— Sim, não me reconhece? Sim, sou eu, Dark!
— Dark!
Sentiu o estômago embrulhado. Ela caiu em seus braços. Esta velha decrépita, meio cega, era sua irmã.
Outro rosto apareceu, lá em cima. 0 de um velho. Um rosto cruel, amargo. Olhou para Sim e rosnou, — Expulsem-no! — Ele vem do rochedo do inimigo. Viveu lá! Ainda está jovem! Aqueles que vão para lá nunca podem voltar para nós. Besta desleal! — E uma rocha desceu, zunindo.
Sim pulou de lado, puxando a velha consigo.
Um clamor ergueu-se do povo. Correram para Sim, brandindo os punhos. — Matem-no! Matem-no! — perorava o velho, e pegou outra pedra.
— Ofereço-lhes dez dias, vinte dias, trinta dias de vida a mais! O povo parou. Suas bocas abertas. Seus olhos estavam incrédulos.
— Trinta dias? — Era repetido em todos os lugares. — Como?
— Voltem à nave comigo! Lá dentro, pode-se viver para sempre! O velho ergueu bem alto uma pedra, e então, engasgando, caiu para a frente, apopléctico, e veio caindo pelas pedras, até os pés de Sim.
Sim inclinou-se para olhar para o macróbio, seus olhos secos, mortos, os lábios frouxos, irônicos, o corpo quieto, aplastado.
— Quion!
— Sim — confirmou Dark atrás dele, numa voz estranha, desafinada. — Seu inimigo. Quíon.
Naquela noite, duzentos homens partiram para a nave. A água corria, no novo canal. Cem deles afogaram-se, ou foram perdidos, no frio. Os outros, com Sim, conseguiram chegar à nave.
Lyte esperava-os, e abriu a porta metálica.
Passaram-se as semanas. Gerações vieram e morreram nos rochedos, enquanto os cientistas e trabalhadores ocupavam-se da nave, aprendendo seu funcionamento e suas partes.
No último dia, duas dúzias de homens ocuparam seus postos na nave. Agora, havia um destino para a jornada à frente.
Sim tocou as placas de comando, sob seus dedos.
Lyte, esfregando os olhos, veio e sentou-se no chão perto dele, apoiando a cabeça em seus joelhos, sonolenta. — Tive um sonho — ela disse, com o olhar em algo distante. — Sonhei que vivia em cavernas, num rochedo, num planeta muito quente e muito frio, onde as pessoas envelheciam e morriam em oito dias.
— Que sonho mais impossível — comentou Sim, — as pessoas não conseguiriam viver, nesse pesadelo. Esqueça: Está acordada, agora.
Tocou as placas, levemente. A nave ergueu-se e foi para o espaço.
Sim estava certo.
O pesadelo finalmente acabou.
— Vai levar só um minuto — disse a doce esposa de Tio Einar.
— Recuso-me, e isso leva só um segundo.
— Trabalhei toda a manhã. — ela disse, com as mãos nas suas delgadas costas, — e você não quer ajudar? Está trovejando, vai logo chover.
— Deixe chover — reclamou ele, preguiçoso. — Não vou ser atingido por um raio só para arejar suas roupas.
— Mas você é tão rápido.
— Recuso-me, repito. — Suas vastas asas de tecido grosso agitaram-se nervosamente, em suas costas indignadas.
Ela estendeu-lhe uma corda fina na qual estavam amarradas quatro dúzias de roupas recém-lavadas. Ele revirava a cordinha entre os dedos, desgostoso. — Então, tudo se reduz a isto, a isto — murmurou amargurado. — A isto, a isto. — Quando chorou lágrimas revoltadas e ácidas.
— Não chore, vai molhá-las de novo — ela advertiu. — Pule, saia com elas.
— Saia com elas. — Sua voz era vazia, profunda, e terrivelmente ferida. — Pois digo eu: que troveje, que chova!
— Se fosse um belo dia ensolarado, eu não pediria — ela disse, arrazoando. — Toda a roupa lavada perdida, se você não ajudar. Vão ficar estendidas dentro de casa...
Isso foi o bastante. Acima de tudo, ele detestava as roupas penduradas como bandeiras, obrigando um homem a agachar-se para andar pela sala. Pulou da cadeira. Suas grandes asas verdes estenderam-se. — Só até a cerca do pasto!
Volteou, e pulou para cima, asas mastigando, e adorando o ar fresco. Antes que se pudesse dizer Tio Einar Tem Asas Verdes, ele planou através de sua fazenda, arrastando as roupas numa grande volta, expostas à forte concussão e ao turbilhão causado por suas asas!
— Pegue!
Voltando do passeio, jogou as roupas, secas como milho de pipoca, sobre uma série de lençóis limpos que ela espalhara para apanhá-las.
— Gaaahh! — foi a resposta gritada, e voou para debaixo da macieira, para se lamentar.
As lindas asas sedosas do Tio Einar pendiam, como velas verde-mar, atrás dele, que batiam e sopravam, em seus ombros, quando ele espirrava, ou se virava depressa. Era um dos poucos da Família cujo talento era visível. Todos os seus escuros sobrinhos e primos e irmãos escondiam-se em cidadezinhas pelo mundo afora, fazendo coisas mentais invisíveis, ou coisas com dedos de bruxo e dentes brancos, ou sopravam do céu como folhas secas, ou corriam nas florestas, como lobos prateados de luar. Viviam comparativamente seguros dos humanos normais. Mas não um homem com grandes asas verdes.
Não que não gostasse de suas asas. Longe disso! Em sua juventude, sempre tinha voado à noite, pois as noites eram ocasiões precisas para homens alados! A luz do dia guardava perigos, como sempre o faria, mas as noites; ah, as noites, tinha planado sobre as ilhas de nuvens e mares de céu de verão. Sem perigo pessoal. Tinha sido uma grande e rica experiência, regozijante.
Mas agora, ele não podia voar à noite.
A caminho de casa, vindo de alguma garganta entre montanhas, na Europa, depois de uma reunião dos membros da Família em Mellin Town, Illinois (há alguns anos atrás), bebera muito daquele rico vinho púrpura. — Estou bem — disse consigo mesmo, vagamente, enquanto batia as asas em seu caminho sob as estrelas matutinas, pelas colinas da paisagem enluarada, além de Mellin Town. E então — um estampido no céu...
Uma torre de alta tensão.
Como um pato na rede! Uma grande faísca! Seu rosto para trás por uma cintilação de fios, chocando-se contra a eletricidade com um terrível ricochetear de suas asas, e caiu.
Sua queda no campo sob a torre, ao luar, fez um barulho como o de uma grossa lista telefônica jogada do céu.
Cedo, na manhã seguinte, asas orvalhadas tremendo violentamente, pôs-se de pé. Ainda estava escuro. Havia uma fina bandagem de madrugada estendida, no leste. Logo aquela bandagem seria manchada e todo vôo seria restrito. Não havia o que fazer, senão refugiar-se na floresta e esperar que o dia passasse, no bosque mais denso, até que outra noite permitisse a suas asas o movimentar-se às escondidas pelo céu.
Deste modo, conheceu sua mulher.
Durante o dia, que era quente, para primeiro de novembro, no Illinois, a bela jovem Brunilla Wexley estava no campo para ordenhar uma vaca perdida, pois carregava um balde prateado na mão, enquanto ladeava os bosques e implorava gentilmente à invisível vaca que, por favor, voltasse para casa, ou se estourasse com o leite não ordenhado. O fato de que a vaca quase certamente voltaria para casa quando suas tetas realmente precisassem ser ordenhadas, não preocupava Brunilla Wexley. Era uma doce desculpa para passear, soprar os cardos, e mastigar flores; tudo o que Brunilla estava fazendo, quando deu com Tio Einar.
Adormecido perto de um arbusto, parecia um homem sob uma tenda verde.
— Oh — exclamou Brunilla, desconcertada. — Um homem. Numa barraca.
O Tio Einar acordou. A barraca abriu-se como um grande leque verde, atrás dele.
E foi como ela encarou a coisa. Estava surpreendida, sim, mas como nunca tinha sido agredida, na vida, não tinha medo de ninguém, e era bonito ver um homem alado, e ela gostou de tê-lo encontrado. Começou a conversar. Numa hora, eles eram velhos amigos, e em duas horas, ela já tinha esquecido que as asas dele estavam lá. E ele acabou confessando como viera naquele bosque.
— Sim, você parecia meio acidentado — ela disse. — Aquela asa direita parece mal. É melhor deixar que o leve até minha casa, para consertá-la. Não conseguirá voar todo o caminho de volta para a Europa com ela assim. E aliás, quem quer viver na Europa, hoje em dia?
Ele agradeceu, mas não via como poderia aceitar.
— Mas eu vivo sozinha. Pois, como vê, sou bem feia. Ele insistiu que não era.
— Como você é bonzinho. Mas sou sim, não adianta me enganar, Minha família está morta, e tenho uma fazenda grande, só para mim, longe de Mellin Town, e preciso de alguém com quem conversar
Mas, ela não estaria com medo dele?
— Orgulhosa, e com inveja. Posso? — E ela acariciou sua grande membrana verde, muito cuidadosamente. Ele estremeceu com o toque e pôs a língua entre os dentes.
Assim sendo, não havia nada a fazer senão ir até a casa dela, para alguns medicamentos e ungüentos, e puxa! Que queimadura no rosto dele abaixo de seus olhos! — Ainda bem que não ficou cego. — Como aconteceu?
— Bem... — ele contou, e chegaram à fazenda, quase sem notar que haviam andado uma milha, olhando um para o outro.
Passou-se um dia, outro, e ele agradeceu-lhe, na porta, e disse que precisava ir, apreciou muito o ungüento, os cuidados, e a hospedagem. Era o pôr-do-sol, e entre agora, seis horas, e cinco da manhã seguinte, ele precisava atravessar um oceano e um continente. — Obrigado, e até logo — disse ele, e começou a voar pela penumbra e esmagou-se contra um plátano.
— Oh! — gritou ela, e correu para seu corpo inconsciente. Quando ele recobrou os sentidos, uma hora depois, sabia que
não mais podia voar no escuro; sua delicada percepção noturna tinha-se ido. A telepatia que o avisava onde estavam torres, árvores, casas e colinas, em sua rota, a clara visão e sensibilidade que o guiavam por florestas, rochedos e nuvens, tinha sido queimada para sempre por aquele choque através do rosto; aquela faísca elétrica, e a queimadura.
— Como? — ele gemeu, baixinho. — Como poderei chegar à Europa? Se voar de dia, seria visto; e, piada miserável, talvez leve um tiro! Ou talvez mantido num zoológico, e que vida levaria, então! Brunilla, diga-me, o que fazer?
— Oh — ela murmurou, olhando para as mãos. — Pensaremos em algo...
Casaram-se.
A Família veio para as bodas. Numa grande avalanche outonal de folhas de plátano, sicômoro, carvalho, olmo, vieram chiando e farfalhando, caindo num chuveiro de castanhas, caindo como maçãs de inverno, como traços de um aroma de despedida de verão no vento que faziam com a sua aproximação. A cerimônia? A cerimônia foi breve como o acender-se e o soprar dê uma vela negra, deixando o fio de fumaça no ar. Sua brevidade, escuridão, e qualidade discreta e de cabeça para baixo, escapou a Brunilla, que só ouvia a grande maré das asas de Tio Einar ressoando fracamente acima deles, quando acabaram o rito. E quanto a Tio Einar, a ferida que atravessava seu nariz estava quase curada e, segurando Brunilla pelo braço, sentiu a Europa desvanecer-se e desaparecer, na distância.
Ele não precisava enxergar muito bem para voar direto para cima, ou descer em linha reta. Era natural que nesta noite de núpcias ele tomasse Brunilla nos braços e voasse direto para cima, no céu.
Um fazendeiro, a cinco milhas de distância, olhou para uma nuvem baixa, à meia-noite, e viu estranhos brilhos e crepitações.
— Raios e trovões! — observou, e foi deitar-se. Não descera, até de manhã, com o orvalho.
O casamento foi adiante. Ela precisava apenas olhar para ele, para que lhe viesse à mente que ela era a única mulher do mundo a estar casada com um homem alado. — Quem mais poderia dizer isso? — ela perguntava ao espelho. E a resposta era: Ninguém!
Ele, por outro lado, achava uma grande beleza no rosto dela, sua grande bondade e compreensão. Fez algumas alterações em sua dieta para se acomodar ao pensamento dela, e era cuidadoso com as asas, dentro de casa; porcelanas e lâmpadas quebradas davam nos nervos, e ele mantinha-se à distância. Mudou seus hábitos de dormir, pois não mais poderia voar à noite. E ela, por sua vez, alterou as cadeiras de modo a ficarem confortáveis para as asas dele, acrescentando estofa -mento aqui, ou tirando ali, e as coisas pelas quais ele dizia que a amava. — Estamos encasulados, nós dois. Vê como sou feia? Mas um dia, quebrarei a casca, abrirei as asas, tão belas quanto as suas.
— Já quebrou a casca há muito tempo.
Ela pensava. — É — tinha de admitir. — Sei em que dia foi, também. No bosque, quando procurava uma vaca, e achei uma barraca!
— Riram-se, e com ele segurando-a, ela se sentia tão bela que pensou que o casamento retirara sua feiúra, como uma espada reluzente de sua bainha.
Tiveram filhos. De início, ele receou que tivessem asas.
— Bobagem, eu adoraria! Ficariam longe dos nossos pés!
— E ficariam nos seus cabelos!
— Oh, não!
Nasceram quatro crianças, três meninos e uma menina que, pela energia que mostravam, era como se tivessem asas. Cresceram como cogumelos em poucos anos, e nos dias quentes de verão, pediam ao pai que se sentasse sob a macieira e os abanasse com suas refrescantes asas, e lhes contasse lendas exóticas, do céu noturno, e ilhas de nuvens e oceanos aéreos, e texturas de névoa e vento e qual é o gosto de uma estrela derretendo na boca, e como beber o ar frio das montanhas, e como é sentir-se uma pedrinha jogada do Monte Everest, desabrochar em verde, e abrir as asas antes de bater no fundo!
E assim era o seu casamento.
E hoje, seis anos mais tarde, lá estava Tio Einar, sentado, fervendo embaixo da macieira, ficando impaciente e mal-educado; não porque gostasse disso, mas porque, após uma longa espera, ainda não podia voar pelo inóspito céu noturno; seu sentido extra nunca retornara. E ficava ali sentado, desapontado, nada mais que um pára-sol de verão, verde e jogado de lado, abandonado, durante a estação, pelos folgazões que haviam procurado o refúgio de sua sombra translúcida. Deveria ficar lá, sentado, para sempre, com medo de voar de dia porque alguém poderia vê-lo? Será que seu único vôo seria para secar as roupas para sua mulher, ou abanar as crianças nas tardes quentes de Agosto? Sua única ocupação tinha sido voar para pequenos favores à Família, mais rápido que as tempestades. Como um bumerangue, percorrera colinas e vales, aterrissando como uma semente de cardo. Sempre tinha dinheiro. A Família sempre tivera necessidade de seu homem alado! Mas agora? Amargor! Suas asas estremeceram e cortaram o ar, provocando um trovão cativo.
— Papai — disse a pequena Meg.
As crianças estavam olhando para sua face sombria e pensativa.
— Papai — disse Ronald — faça mais trovão!
— É um dia frio de março e logo haverá muita chuva e trovão.
— Vem nos ver? — perguntou Michael.
— Vamos, vamos, deixe papai pensar!
Ele estava surdo para o amor, as crianças do amor, e o amor das crianças. Pensava só nos céus, horizontes, infinitos, noite ou dia, à luz das estrelas, lua ou sol, tempo claro ou nebuloso, mas sempre eram céus e horizontes que estavam à frente, sempre que se voava. E no entanto, lá estava ele, sobrevoando o pasto, voando baixo, com medo de ser visto.
Miséria, num poço profundo!
— Papai, venha ver-nos; é março! — gritou Meg. — E vamos à Colina, com todas as crianças da cidade!
Tio Einar resmungou — E que colina é essa?
— A Colina da Pipa, claro! — cantaram em coro. Agora, ele olhou para eles.
Cada um segurava um grande papagaio, rostos suados, com a antecipação, brilhando. Em seus pequenos dedos, bolas de linha branca. Das pipas, em vermelho, azul, amarelo e verde, saíam longos apêndices caudais de algodão e fitas de seda.
— Vamos empinar nossas pipas! — disse Ronald. — Não vem conosco?
— Não — ele respondeu, entristecido — não posso ser visto por ninguém ou haveria problemas.
— Você pode se esconder e olhar do bosque — sugeriu Meg. — Nós mesmos fizemos as pipas. Sabemos como fazê-las bem.
— E como sabem?
— Você é nosso pai! — foi a resposta instantaneamente berrada. — É por isso!
Olhou para suas crianças, longamente. Suspirou. — Um festival de pipas, hein?
— Sim, senhor!
— Vou vencer. — disse Meg.
— Não, eu vou! — contradisse Michael.
— Eu, eu! — silvava Stephen.
— Fecham a chaminé! — exclamou Tio Einar, pulando alto com um ensurdecedor bater de asas. — Cri nças, crianças, amo-as muito!
— Pai, o que há? — disse Michael, assustado.
— Nada, nada, nada! — cantou Einar. Flexionou suas asas para sua máxima amplitude e propulsão. Vuumm! Ressoavam como címbalos. As crianças caíram com o turbilhão! — Estou livre de novo! Fogo na caldeira! Asas ao vento! Brunilla! — Einar chamou, na direção da casa. Sua mulher apareceu. — Estou livre! — disse, animado, e na ponta dos pés. — Escute, Brunilla, não preciso mais da noite! Posso voar de dia! Não preciso da noite! Posso voar todo dia, e em qualquer dia do ano, doravante! — Mas estou perdendo tempo, falando. Olhe!
E enquanto os preocupados membros da família olhavam, agarrou o rabo de algodão de uma das pipas, amarrou-o às costas, na cintura, agarrou a bola de barbante, segurou uma ponta nos dentes, deu a outra ponta às crianças, e subiu, subiu pelo ar, pelo vento de março!
E pela campina, através das fazendas, suas crianças corriam, dando fio ao céu ensolarado, rindo e tropeçando, e Brunilla ficava no terreiro, acenando e rindo, vendo o que acontecia, e suas crianças iam para a Colina da Pipa e lá ficaram, as quatro, segurando a bola de linha em seus dedos orgulhosos, ansiosos, cada um puxando, e dirigindo. E quando as crianças de Mellin Town vieram correndo com suas pequenas pipas, para soltarem-nas ao vento, e viram a grande pipa verde saltar e planar no céu, exclamaram:
— Oh, que pipa! Que pipa! Quisera ter uma como essa! Onde a conseguiram?
— Nosso pai que fez! — gritou Meg, e Michael e Stephen e Ronald, e deram um exultante puxão no fio, e a pipa, zumbindo e trovejando, no céu, mergulhou e planou e fez um grande e mágico ponto de exclamação, através de uma nuvem!
— A cidade parece cheia de máquinas — disse Douglas, correndo. — O Sr. Auffmann e sua Máquina da Alegria; a srta. Fern e a srta. Roberta e sua Máquina Verde. E você, Charlie, que me diz?
— Uma Máquina do Tempo! — disse ofegante, Charlie Woodman, a seu lado. Pela honra de minha mãe, de escoteiro e de índio!
— Viaja para o passado e para o futuro? — John Huff perguntou, alcançando-os com facilidade.
— Só o passado, mas, você não pode querer tudo. Aqui estamos. Charlie Woodman parou perto de uma sebe.
Douglas olhou para dentro da velha casa. — Ora, esta é a casa do velho Coronel Freeleigh. Não pode haver Máquina do Tempo aí. Ele não é inventor, e se fosse, teríamos ouvido dizer de uma coisa tão importante quanto uma Máquina do Tempo, há anos.
Charlie e John subiram os degraus da varanda na ponta dos pés. Douglas torceu o nariz, ficando onde estava.
— OK, Douglas, seja um cabeça dura. Claro, o Coronel Freeleigh. não inventou essa Máquina do Tempo. Mas é sócio-proprietário dela, e está aqui o tempo todo. E nós éramos tolos o bastante para não notar! Até logo para você, Douglas Spaulding!
Charlie tomou o cotovelo de John, como se estivesse escoltando uma dama, abriu a porta de tela e entrou. A porta não bateu.
Douglas tinha segurado a tela, e estava entrando.
Charlie atravessou a varanda, bateu à porta, e abriu-a. Todos olharam por um hall escuro e comprido, para uma sala, iluminada, como uma caverna submarina, verde suave, penumbra, aquosa.
— Coronel Freeleigh? Silêncio.
— Ele não ouve muito bem — sussurrou Charlie. — Mas ele disse que eu entrasse e gritasse. Coronel!
A única resposta, era a poeira descendo a escada espiral, lá de cima. Então deu-se um fraco movimento naquela câmara submarina, no outro extremo do hall.
Moveram-se cautelosamente para lá, e espiaram dentro de uma sala que continha só duas peças de mobiliário: um velho e uma cadeira. Assemelhavam-se um ao outro, ambos tão magros, que se podia ver como haviam sido montados, olho e órbita; tendão e junta. O resto da sala era assoalho, paredes nuas e teto, e vastas quantidades de ar silencioso.
— Ele parece morto — cochichou Douglas.
— Não, ele está só imaginando novos lugares para viajar — disse Charlie, quieto, e orgulhoso. — Coronel?
Uma das peças de mobília marrom moveu-se, e era o coronel, piscando, focalizando o olhar, e sorrindo com um sorriso rústico e desdentado. — Charlie!
— Coronel, Doug e John aqui, vieram para...
— Bem-vindos sejam, garotos; sentem-se!
Os garotos sentaram-se, pouco à vontade, no chão.
— Mas para que... — disse Douglas. Charlie cutucou suas costelas, sub-repticiamente.
— Para que o quê? — perguntou o Coronel Freeleigh.
— Para que nós conversarmos, ele quer dizer. — Charlie fez uma careta para Douglas, então sorriu para o velho. — Não temos nada a dizer, Coronel, o senhor diga alguma coisa.
— Cuidado, Charlie, velhos ficam só à espera de que as pessoas lhes peça para falar. Então eles fazem mais barulho do que um elevador enferrujado subindo pelo poço.
— Ching Ling Su — sugeriu Charlie.
— Hein? — fez o coronel.
— Boston — Charlie ajudou — 1910.
— Boston, 1910... — O coronel franziu a testa. — Ora, Ching Ling Su, claro!
— Sim, senhor, Coronel.
— Deixe-me ver, agora... — A voz do coronel murmurava, deslizando para longe, sobre águas serenas. — Deixe-me ver...
Os meninos esperavam.
O Coronel Freeleigh fechou os olhos.
— Primeiro de outubro, 1910, uma fresca e calma noite de outono, no Teatro de Variedades de Boston, sim, lá está. Casa cheia, todos esperando. Orquestra, fanfarra, cortina! Ching Ling Su, o grande Mágico do Oriente! Ali está ele, no palco! E ali estou eu, na fileira da frente! "O Truque da Bala!" Ele exclama. "Voluntários!" O homem a meu lado levanta-se. "Examine o rifle!" — diz Ching. "Marque a bala!" ele diz. "Agora, dispare esta bala marcada deste rifle, usando meu rosto como alvo" e dizia Ching, "do outro lado do palco vou apanhar a bala em meus dentes!
O Coronel Freeleigh tomou fôlego, e fez uma pausa.
Douglas estava com os olhos fixos nele, meio desconcertado, meio embevecido. John Huff e Charlie estavam completamente envolvidos, e o velho continuou, olhos e cabeça congelados, apenas seus lábios movendo-se.
— Preparar; apontar; fogo! — gritou Ching Ling Su. Bang! O rifle dispara. Bang! Ching Ling Su grita, vacila, cai, seu rosto todo vermelho. Pandemônio. A audiência de pé. Algo errado com o rifle. "Morto", alguém diz. E estão certos. Morto. Horrível, horrível... Sempre lembrarei... seu rosto, uma máscara vermelha, a cortina descendo, depressa, e as mulheres chorando... 1910... Boston... Teatro de Variedades... pobre homem... pobre homem...
O Coronel Freeleigh devagar abriu os olhos.
— Puxa, Coronel — disse Charlie — essa foi ótima. E agora, que tal falar sobre Pawnee Bill?
— Pawnee Bill?...
— E aquela vez que o senhor estava nas pradarias, em setenta e cinco.
— Pawnee Bill... — O coronel moveu-se, para a escuridão. — Mil oitocentos e setenta e cinco... sim, Pawnee Bill e eu, numa pequena elevação, naquela pradaria, esperando. "Chh!" faz Pawnee Bill. "Escute". A pradaria, como enorme palco preparado para a tempestade que se aproximava. Trovão. Suave. Trovão, de novo. Não tão suave. E através daquela pradaria, tão longe quanto a vista alcançava, aquela imensa nuvem amarelo-escuro, sinistra, cheia de relâmpagos negros, meio enterrada no chão, cinqüenta milhas de largura, uma milha de altura, e a não mais do que uma polegada do chão. "Senhor!" gritei, "Senhor!" do topo de minha colina. "Senhor!" A terra ressoava como um coração enlouquecido, rapazes, um coração em pânico. Meus ossos sacudiam, como se fossem quebrar. A terra tremia: ta-ta-tá ratatá buumm! Estrondo. É uma boa palavra: estrondo. Aquela potente procela estrondeava por todos os lados da elevação, e tudo o que se podia ver era a nuvem, e nada dentro. "São eles!" gritou Pawnee Bill. E a nuvem era poeira! Nem vapores, nem chuva, não, mas o pó da pradaria erguido da grama seca como farinha fina, como pólen, agora todo iluminado pelo sol, pois agora, o sol já tinha nascido. Gritei de novo! Por quê? Por que em meio de toda aquela poeira do fogo do inferno, agora um véu movia-se para o lado, e eu os vi, eu juro! O grande exército das antigas pradarias: o bisão, o búfalo!
O coronel deixou que o silêncio se acumulasse, então quebrou-o de novo.
— Cabeças como gigantescos punhos negros, corpos como locomotivas! Vinte, cinqüenta, duzentos mil mísseis de aço disparados do oeste, perdidos e saindo das cinzas, seus olhos como carvões acesos, troando rumo ao esquecimento!
— Vi a poeira erguer-se e por um momento mostrar-me aquele mar de corcovas, pelagem ondulante, ondas negras, peludas, erguendo-se, caindo,... "Atire!" disse Pawnee Bill, "Atire!", e eu engatilho e aponto. "Atire!", ele diz. E eu fico ali, sentindo-me como a mão direita de Deus, ilhando para aquela grande visão de força e violência passando, passando, meia-noite, em pleno dia, como um reluzente trem funeral, todo negro, e longo, e comprido e triste e perpétuo e não se atira num trem funeral, não é, meninos? Vocês atirariam? Tudo o que eu queria então era que a poeira de novo cobrisse aquelas formas negras de morte, galopando e empurrando-se em comoções pesadas. E rapazes, a poeira adensou-se. A nuvem escondeu os milhões de pés que percutiam o trovão e enevoavam a tempestade. Ouvi Pawnee Bill praguejar e bater em meu braço. Mas eu estava contente por não ter tocado aquela nuvem, ou a força dentro daquela nuvem, nem com um pedacinho só de chumbo. Eu só queria ficar olhando o' tempo passar, atabalhoadamente, escondido pela tempestade que os bisões faziam e carregavam com eles, para a eternidade.
— Uma hora, três horas, seis, até que a tempestade passasse além do horizonte, em direção a homens menos bondosos que eu. Pawnee Bill fora-se, eu estava sozinho, ensurdecido. Andei, entorpecido, umas cem milhas para o sul, e não ouvia vozes humanas, e estava contente, por isso. Por um momento, quis relembrar a trovoada. Ainda a ouço, nas tardes de verão, como esta, quando a chuva está prestes a
cair sobre o lago; voz assustadora, prodigiosa... gostaria que vocês pudessem ter ouvido...
A luz fraca filtrava-se pelo nariz do Coronel Freeleigh, que era grande e largo como a porcelana que continha um chá tépido e fraco de laranja.
— Está dormindo? — perguntou Douglas, por fim.
— Não — explicou Charlie — só recarregando as baterias.
O Coronel Freeleigh respirava depressa, e suavemente, como se tivesse corrido longamente. Acabou abrindo os olhos.
— Sim, senhor! — disse Charlie, admirado.
— Olá, Charlie. — O Coronel sorriu para os meninos, surpreendido.
— Este é Doug, e aquele é John — disse Charlie.
— Como vão, meninos? Os meninos responderam.
— Mas... — disse Douglas. — Onde está a...?
— Caramba, como você é burro! — Charlie cutucou Douglas no braço. Virou-se para o coronel. — O que o senhor estava dizendo, mesmo?
— Ah, eu estava dizendo alguma coisa? — murmurou o velho.
— Guerra Civil — sugeriu John Huff, baixinho. —.Ele se lembra disso?
— Se me lembro? — disse o coronel. — Claro que sim! — Sua voz estremeceu, quando ele fechou os olhos de novo. — Tudo! Exceto... de que lado lutei...
— A cor de seu uniforme... — Charlie começou a dizer.
— As cores acabam desbotando — respondeu o coronel. — Fica tudo borrado. Vejo soldados comigo, mas há muito tempo, parei de ver a cor de seus uniformes, ou de seus quepes. Nasci em Illinois, criado em Virgínia, casei-me em Nova Yorque, construí uma casa no Tenessee, e agora, bem depois, aqui estou eu, meu bom Deus, de volta a Green Town. Então percebem por que eu vejo as cores escorrendo e misturando...
Mas, o senhor se lembra de que lado das colinas lutou? — Charlie não erguia a voz. — 0 sol nascia à sua esquerda, ou à sua direita? Marchou para o Canadá ou para o México?
— Parecia, algumas manhãs, que o sol nascia à minha boa mão direita; algumas manhãs, ao meu ombro esquerdo. Marchamos em todas as direções. Já são quase setenta anos. Depois de passado tanto tempo, esquecemo-nos dos sóis e das manhãs.
— Lembra-se de ter ganho, não? Uma batalha ganha em algum lugar?
— Não — respondeu o homem, com voz grave, — não me lembro de ninguém ter ganho, em nenhum momento, em nenhum lugar. Uma guerra nunca é uma coisa que se ganha, Charlie. Você só perde o tempo todo, e aquele que perde por último, dita os termos. Tudo o que me lembro é de uma porção de derrotas, e tristezas e nada de bom, exceto o fim. O fim, Charlie, que era vitória para todos, não teve armas. Mas não creio que seja esse o tipo de vitórias sobre o qual vocês, meninos, querem que eu fale.
— Antietam — disse John Huff. — Pergunte sobre Antietam.
— Eu estive lá.
Os olhos dos meninos brilharam. Buli Run, pergunte sobre Bull Run...
— Eu estive lá — em voz baixa. —E Shiloh?
— Não se passou um ano de minha vida sem que eu tenha pensado, que nome adorável, e que vergonha tê-lo visto só em registros de combate.
— Shiloh, então, e Fort Sumter?
— Vi as primeiras fumaças da pólvora. — Uma voz sonhadora. — Tantas coisas retornaram, tantas coisas... Lembro-me de canções. "Tudo quieto ao longo do Potomac, esta noite, onde os soldados estão, pacificamente, sonhando; suas tendas aos raios da clara lua de outono, ou a luz do sentinela, rebrilham." Lembrar... lembrar... "Tudo quieto ao longo do Potomac esta noite; nenhum som, exceto o do rio; enquanto suave cai o orvalho no rosto dos mortos; a guarda dispensada para sempre!"... Depois da rendição, o sr. Lincoln, no balcão da Casa Branca pediu que a banda tocasse "Look away; look away; look away, Dixieland..." E então, aquela dama de Boston, que uma noite escreveu uma canção que vai durar mil anos: "Meus olhos viram a glória da vinda do Senhor; Ele está amassando a colheita das vinhas da ira." Tarde da noite sinto minha boca movendo-se cantando, outras vezes, "Cavaleiros de Dixie! Que guardam as fronteiras do Sul..." "Quando os rapazes voltam triunfantes, irmão, com os louros que ganharam..." Tantas canções, cantadas em ambos os lados, sopradas para o norte, sopradas para o sul, pelos ventos da noite. "Estamos chegando, Pai Abraham, mais trezentos mil..." "Acampando esta noite, acampando esta noite, acampando no velho acampamento." "Hurra, Hurra, trazemos o Jubileu, a bandeira que nos liberta..."
A voz do velho apagou-se.
Os meninos deixaram-se estar sentados por um bom tempo, sem sequer se mover. Então Charlie virou-se e olhou para Douglas, e disse: — Bem, ele é ou não é?
Douglas respirou duas vezes, e respondeu. — Por certo que è.
O coronel abriu seus olhos.
— Por certo que sou o quê?
— A Máquina do Tempo — murmurou Douglas — uma Máquina do Tempo.
O coronel olhou para as crianças, bem por uns cinco segundos. Agora, era a voz dele que estava cheia de admiração.
— É assim que vocês, meninos, me chamam?
— Sim, senhor, coronel.
— Sim, senhor.
O coronel recostou-se devagar, em sua cadeira, e olhou para os meninos, e então para suas mãos, e então para a parede branca além deles, fixamente.
Charlie levantou-se. — Bem, acho melhor irmos. Até mais, e obrigado, Coronel.
— O quê? Oh, até logo, meninos.
Douglas e John e Charlie saíram, pela porta, na ponta dos pés. O Coronel Freeleigh, muito embora eles cruzassem sua linha de visão, não notou a saída deles.
Na rua, os meninos foram tomados de surpresa quando alguém gritou, de uma janela do primeiro andar. — Ei! Olharam para cima.
— Sim, senhor, Coronel?
O coronel inclinou-se acenando.
— Pensei sobre o que disseram!
— Sim, senhor?
— E... estão certos! Por que não pensei nisso antes! Uma Máquina do Tempo, pelos Céus, uma Máquina do Tempo!
— Sim, senhor.
— Até logo, crianças. Apareçam!
Ao fim da rua, viraram-se, e o coronel ainda estava acenando.
Acenaram também para ele, sentindo-se bem, aquecidos, então prosseguiram.
— Chug-chug-chug — disse John — posso viajar doze anos para o passado. — Vam-chug-ding!
— É... — falou Charlie, olhando para aquela casa tranqüila. — Mas não pode voltar cem anos.
— Não — considerou John — não posso voltar cem anos. Isso sim é que é viajar. Uma máquina e tanto.
Andaram por todo um minuto em silêncio, olhando para os pés. Chegaram a uma cerca.
— O último a pular a cerca — disse Douglas — é uma menina. E por todo o caminho de volta para casa, chamaram Douglas de "Dora".
Tarde, naquela noite, voltando para casa, do cinema com sua mãe e seu pai, e seu irmão, Tom, Douglas viu os sapatos de tênis na vitrina iluminada. Desviou logo o olhar, mas seus calcanhares foram agarrados, seus pés suspensos, e então moveram-se. A terra girou; o toldo da loja balançou sua armação, com a corrida. Sua mãe, seu pai e irmão, andavam quietos, a seus lados. Douglas voltou, olhando o par de tênis na janela deixada para trás, no meio da noite.
— Foi um bom filme — disse mamãe. Douglas murmurou. — Sim, foi...
Era junho, e já passara da hora de comprar o calçado especial que era suave como a chuva de verão caindo nas calçadas. Junho, e a terra cheia de força crua e tudo, em todos os lugares, em movimento. A grama ainda estava chegando, do campo, circundando as calçadas, bloqueando as casas. A qualquer momento, a cidade adernaria, afundaria, sem sequer abalar os cravos e a grama. E ali estava Douglas, amarrado ao cimento morto e às ruas de tijolo vermelho, mal podendo mover-se.
— Papai! — deixou escapar, bruscamente. — Lá atrás naquela vitrine, aqueles tênis Espuma de Creme, Para Litefoot...
Seu pai nem mesmo virou-se. — Vamos supor que você possa me dizer por que precisa de um novo par de tênis. Pode?
— Bem...
Era porque eles tinham aquela sensação, todo verão, quando você tira os sapatos pela primeira vez, e corre pela grama. Davam a sensação de pôr os pés para fora das cobertas quentes, no inverno, para deixar o vento frio da janela aberta soprar neles, de repente, e você os deixa, bastante tempo, até puxá-los de volta para dentro das cobertas, para senti-los, como neve embrulhada. Os sapatos de tênis davam a sensação da primeira vez no ano que se mergulha os pés nas águas lentas do remanso, vendo-os lá .embaixo, meia polegada mais adiante, na correnteza, com a refração, do que a sua parte real, fora d'água.
— Papai — replicou Douglas, — é tão difícil de explicar... De alguma maneira, as pessoas que fabricavam sapatos de tênis sabiam o que os meninos queriam e precisavam. Punham marshmallows e molas espirais nas solas, e teciam o resto de grama branqueada e queimada nos campos. Em algum lugar, bem no fundo da argila macia dos sapatos, os tendões rijos dos gamos estavam escondidos. O pessoal que fazia os sapatos deve ter olhado muito o vento soprar nas árvores e muitos rios escoando para os lagos. Fosse o que fosse, estava nos sapatos, e era verão,
Douglas tentou pôr tudo isso em palavras.
— Sim — respondeu o pai, — mas o que há de errado com os do ano passado? Por que não pode desenterrá-los do armário?
Ora, ele sentia pena dos meninos que moravam na Califórnia onde usavam tênis o ano inteiro, e nunca souberam o que era remover o inverno dos pés, retirar os sapatos de couro férreo cheios de neve e chuva, e correr descalço por um dia, e então amarrar os novos tênis, para a estação, que era ainda melhor que andar descalço. A mágica estava sempre no novo par de sapatos. A mágica já poderia ter morrido, no primeiro de setembro, mas agora, no fim de julho, ainda havia muita magia, e sapatos como esses poderiam fazer você pular árvores e rios e casas. E se quisesse, poderiam fazer você pular cercas, e nas calçadas, e por cima de cães.
— Não percebe? Simplesmente não posso usar o par do ano passado.
Pois o par do ano passado estava morto, por dentro. Estavam ótimos quando começou a usá-los, no ano passado. Mas, pelo fim do verão, todo ano, você sempre descobre, sabe sempre, que nunca mais poderia pular sobre rios e árvores e casas com eles, e estavam mortos. Mas este, era um novo ano, e ele sentia que desta vez, com este novo par de sapatos, podia fazer qualquer coisa, qualquer coisa mesmo.
Subiram os poucos degraus até a porta de sua casa. — Economize seu dinheiro — disse o pai, — em cinco ou seis semanas...
— O verão terá acabado!
Luzes apagadas, Tom adormecido, Douglas estava olhando seus pés, afastados, lá no extremo da cama, ao luar, livres dos pesados sapatos de ferro, os grandes pedaços de inverno tendo caído deles.
— Razões. Preciso pensar em razões para os tênis.
Bem, como todos sabiam, as colinas à volta da cidade estavam fervilhando com amigos assustando as vacas, brincando de barômetro, conforme as alterações atmosféricas, tomando sol, descascando como calendários, a cada dia, para tomar mais sol. Para alcançar esses amigos, você precisa correr muito mais depressa do que raposas, ou esquilos. Quanto á cidade, fervia com inimigos irritados com o calor, e assim recordando-se de toda a discussão e insulto do inverno. Ache amigos, enterre inimigos! Esse era o motto do Espuma de Creme Para Litefoot. O mundo vai muito depressa? Quer ser alerta, ficar alerta? Litefoot, então! Litefoot!
Ergueu seu cofre de moedas e escutou o fraco tilintar e o pouco peso do dinheiro lá dentro.
O que quer que você queira, pensou, deve conseguir sozinho. Durante a noite, agora, vamos achar aquele caminho pela floresta...
No centro da cidade, as luzes apagavam-se, uma a uma. Um vento soprou pela janela. Era como o curso de um rio, e seus pés querendo acompanhá-lo.
Nos seus sonhos, ele ouvia um coelho correndo correndo correndo, na grama funda e quente.
O velho Sr. Sanderson movia-se, em sua loja de sapatos, como o proprietário de uma loja de animais deve se mover em sua loja, aonde há animais de todo o mundo, enjaulados, tocando cada um brevemente, à sua passagem. O Sr. Sanderson passou as mãos sobre os sapatos na vitrina, e alguns eram como gatos, para ele, e alguns, como cães; tocava cada par, compenetrado, ajustando laços, arrumando as línguas. Então, parou exatamente no centro do tapete e olhou á volta, aprovadoramente.
Havia o rumor de tempestade se acumulando.
Num momento, a porta do Empório de Calçados Sanderson estava vazia. No seguinte, Douglas Spaulding lá estava, desajeitado, olhando para seus sapatos de couro, como se aquelas coisas pesadas não pudessem ser erguidas do cimento. O trovão parou, junto com seus sapatos. Agora, com uma dolorosa lentidão, ousando olhar apenas para o dinheiro em sua mão, Douglas saiu da forte luz daquela tarde de sábado. Empilhou cuidadosamente as diversas moedas, sobre o balcão, como alguém que joga xadrez, e preocupado, como se o próximo movimento pudesse levá-lo ao sol ou à sombra profunda.
— Não diga, eu adivinho — disse o Sr. Sanderson. Douglas gelou.
— Primeiro, eu sei o que você quer comprar. Segundo, eu o vejo toda tarde, na minha vitrina; pensa que não vejo? Engana-se. Terceiro, para falar claro, você quer os tênis Royal Crown Espuma de Creme Para Litefoot: "COMO MENTOL EM SEUS PÉS!" Quarto, você quer comprar fiado.
— Não! — exclamou Douglas, respirando forte, como se tivesse corrido a noite toda, em sonho. — Tenho algo melhor do que pedir fiado! Antes que eu diga, Sr. Sanderson, o senhor precisa me fazer um favorzinho. Pode se lembrar da última vez que o senhor mesmo usou um par de Litefoot?
O rosto do sr. Sanderson ensombreceu-se. — Ora, dez, vinte, quem sabe, trinta anos atrás. Por quê...?
— Sr. Sanderson, não acha que deve aos seus fregueses ao menos experimentar os sapatos que vende, de modo que saiba como são? As pessoas esquecem, se não continuam experimentando as coisas. O homem da Charutaria United fuma, não? O homem da doceira experimenta o que faz, eu acho. Logo...
— Talvez você tenha reparado — disse o velho, — que eu já estou de sapatos.
— Mas não de tênis! Como vai vendê-los se não gosta deles, e como vai gostar deles, se não os conhece?
O Sr. Sanderson afastou-se um pouco do menino febril, mão no queixo. — Bem...
— Sr. Sanderson, venda-me algo, e eu lhe vendo algo do mesmo valor.
— É absolutamente necessário, para a venda, que eu ponha um par de tênis?
— Eu bem que gostaria!
O homem suspirou. Um minuto depois, sentado, um pouco cansado, amarrava os tênis em seus pés longos e estreitos. Pareciam deslocados e estranhos, perto da boca escura de seu terno. O Sr. Sanderson levantou-se.
— Que lhe parece? — perguntou o menino.
— Como parecem; são ótimos. — Começou a sentar-se.
— Por favor! — Douglas estendeu a mão. — Sr. Sanderson, poderia balançar um pouco, para frente e para trás, dar uma voltinha, pular, enquanto eu conto o resto? É o seguinte: eu lhe dou meu dinheiro e o senhor dá os sapatos, fico lhe devendo um dólar. Mas, Sr. Sanderson, mas, assim que eu puser aqueles sapatos, sabe o que acontece?
— O quê?
— Bang! Faço as suas entregas, trago-lhe pacotes, o café, suas coisas, vou ao correio, telégrafo, biblioteca! Verá doze de mim entrando e saindo, entrando e saindo, a cada minuto. Sinta esses tênis, Sr. Sanderson, sente como eles poderiam me levar depressa? Aquelas molas aí dentro? Sente toda a correria dentro deles? Sente como eles tomam o controle e não o largam, e não gostam que se fique aí parado? Sente como eu faria as coisas depressa, coisas que o senhor não gostaria de ter o trabalho de fazer? O senhor fica aqui na loja, na sombra, enquanto eu estou pulando por aí! Mas não sou eu, realmente, são os sapatos. Vão como loucos pelas ruas, esquinas, e de volta! Lá vão eles!
O Sr. Sanderson estava boquiaberto com o palavrório. Quando as palavras começaram a transbordar, ele foi arrebatado; começou a afundar nos sapatos, flexionar os dedos, arquear os pés, testar os tornozelos. Oscilava de leve, secretamente, para frente e para trás, com a fraca brisa que vinha pela porta aberta. Os tênis afundavam-se silenciosamente no carpete, como se fosse o mato da floresta, em argila resiliente. Golpeou solenemente uma vez a massa fermentada com os calcanhares, na terra, que o acolhia. Emoções perpassaram seu rosto, como muitas luzes coloridas piscando. Sua boca ficava ligeiramente aberta. Devagar, cessou de balançar, e a voz do menino desapareceu e eles ficaram ali, olhando um para o outro, num tremendo e natural silêncio.
Umas poucas pessoas passavam na calçada, lá fora, sob o sol quente.
Ainda o homem e o menino estavam lá, o menino brilhando, o homem com a revelação no rosto.
— Menino — respondeu o velho, por fim: — daqui a cinco anos, gostaria de um emprego de vendedor de sapatos, nesta loja?
— Puxa, obrigado, Sr. Sanderson, mas ainda não sei o que vou ser.
— O que você quiser, filho, será. Ninguém jamais conseguirá impedi-lo.
O velho andou devagar, pela loja, até a parede das dez mil caixas, e voltou com alguns sapatos para o menino, e escreveu uma lista num papel, enquanto o menino estava amarrando os tênis nos pés, e se punha de pé, esperando.
O homem estendeu a lista. — Uma dúzia de coisas que você precisa fazer para mim esta tarde. Acabe-as, e estamos quites, e você está despedido.
— Obrigado, Sr. Sanderson! — Douglas saltou, afastando-se.
— Pare! — gritou o velho. Douglas brecou e virou-se.
O Sr. Sanderson inclinou-se para a frente. — Que lhe parecem?
O menino olhou para seus pés, afundados nos rios, nos campos de trigo, ao vento que já o estava soprando para longe da cidade. Olhou para o velho, olhos queimando, boca movendo-se, mas nenhum som veio dela.
— Antílopes? — disse o homem, olhando do rosto do menino para seus pés. — Gazelas?
O menino pensou, hesitou, e fez que sim com a cabeça. Quase que imediatamente, desapareceu. Girou com um assobio, e disparou. A porta ficou vazia. O som dos tênis desapareceu no calor da selva.
O Sr. Sanderson ficou à porta ensolarada, escutando. De muito tempo atrás, quando ele era menino, lembrou-se do ruído. Lindas criaturas saltando ao ar livre, passando por arbustos, sob as árvores, ao longe, e apenas o eco suave que seus pés velozes deixavam para trás.
— Antílopes — disse o Sr. Sanderson. — Gazelas. Abaixou-se para pegar os sapatos de inverno, abandonados pelo menino, pesados, com chuvas esquecidas e neves de há muito derretidas. Saindo do sol abrasador, andando suave, leve, devagar, retornou para a civilização...
Ray Bradbury
O melhor da literatura para todos os gostos e idades



















